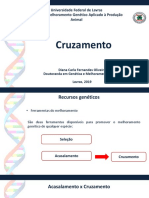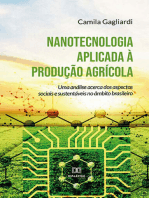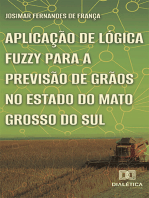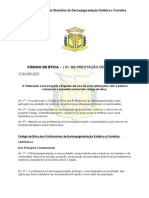Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
01.relatorio MANDIOCA
01.relatorio MANDIOCA
Enviado por
Fmc U'fuçadorTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
01.relatorio MANDIOCA
01.relatorio MANDIOCA
Enviado por
Fmc U'fuçadorDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ESTUDO DE MERCADO SOBRE A MANDIOCA
(FARINHA E FCULA)
ESTUDOS DE MERCADO ESPM/SEBRAE
Relatrio Completo
Janeiro de 2008
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
2008, Sebrae - Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas
Adelmir Santana
Presidente do Conselho Deliberativo Nacional
Paulo Tarciso Okamotto
Diretor - Presidente
Luiz Carlos Barboza
Diretor Tcnico
Carlos Alberto dos Santos
Diretor de Administrao e Finanas
Luis Celso de Piratininga Figueiredo
Presidente Escola Superior de Propaganda e Marketing
Francisco Gracioso
Conselheiro Associado ESPM
Raissa Rossiter
Gerente Unidade de Acesso a Mercados
Juarez de Paula
Gerente Unidade de Atendimento Coletivo Agronegcios
e Territrios Especficos
Patrcia Mayana
Coordenadora Tcnica
Laura Gallucci
Coordenadora Geral de Estudos ESPM
Daniel Carsadale Queiroga
Coordenador Carteira de Fruticultura
Guilherme Umeda
Pesquisador ESPM
Laura Gallucci
Revisora Tcnica ESPM
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
SUMRIO
SUMRIO
1. INTRODUO
1.1. Metodologia utilizada
5
6
2. A MANDIOCA CARACTERSTICAS NATURAIS E CULTURAIS
2.1 Variedades de mandioca
2.1.1 Melhoramento gentic.
o
Melhoramento gentic
2.2 Contextualizao histrica da cultura da mandioca
9
11
13
3. CONTEXTO MUNDIAL DO MERCADO DA MANDIOCA
14
4. EVOLUO HISTRICA DE MERCADO E PRODUO NO BRASIL
17
4.1
20
Importaes e exportaes brasileiras da mandioca
5. CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA DESTINADA INDSTRIA
22
5.1 Caracterizao dos produtores
5.1.1 Cooperativas e associaes
5.1.2 Instituies de apoio
5.1.3 Arranjos Produtivos Locais (APLs)
5.2 Farinha e fcula de mandioca: usos e caractersticas
5.2.1 Farinha de mandioca
5.2.2 Fcula de mandioca
5.2.3 Modificao do amido
5.3. Dados de produo e consumo de farinha e fcula de mandioca
5.3.1. Produo de farinha de mandioca
5.3.2 Distribuio do consumo de farinha no Brasil
5.3.3 Produo de fcula de mandioca
5.3.4 Indstrias e estados compradores de fcula de mandioca
5.4 Preos da farinha e da fcula de mandioca
5.5. Concorrncia
5.5.1 Competio entre produtores de farinha e fcula
5.5.2 Competio com produtos substitutos
5.6 Aspectos legais
5.7 Distribuio canais de comercializao
5.8 Comunicao
5.8.1 Eventos
24
25
26
27
28
29
32
34
36
36
36
37
39
41
43
43
46
47
49
50
6. DIAGNSTICO DO MERCADO DE FCULA E FARINHA DE MANDIOCA
51
6.1 Tendncias para a cadeia de derivados da mandioca
6.1.1 Tendncias para a farinha de mandioca
6.1.2 Tendncias para a fcula de mandioca
6.2 Anlise estrutural da indstria
6.2.1 Ameaa de novos entrantes
6.2.2 Ameaa de produtos substitutos
6.2.3 Poder de barganha dos fornecedores
6.2.4 Poder de barganha dos compradores
6.2.5 Rivalidade entre competidores existentes
6.3 Anlise PFOA
6.3.1 Potencialidades
52
52
53
53
54
54
55
55
56
57
58
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
6.3.2 Fragilidades
6.3.3 Oportunidades
6.3.4 Ameaas
59
59
60
7. CONSIDERAES FINAIS
62
8. REFERNCIAS
63
9. ESPECIALISTAS PARA CONTATO
68
10. GLOSSRIO
69
11. ANEXOS
73
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
1. INTRODUO
aceito como fato que o sucesso e o futuro de uma empresa dependem do nvel
de aceitao dos seus produtos e servios pelos consumidores, da sua capacidade
de tornar acessveis esses produtos nos pontos de venda adequados ao mercado
potencial - na quantidade e na qualidade desejadas e com preo competitivo - e do
grau de diferenciao entre sua oferta de produtos e servios frente concorrncia
direta e indireta.
A anlise mercadolgica insere-se nesse contexto como um instrumento
fundamental para os empresrios das micro e pequenas empresas. A dinmica dos
mercados modifica-se continuamente e as exigncias dos consumidores alteram-se
e se ampliam na mesma velocidade. A falta de um conhecimento abrangente sobre o
ambiente de negcios, a cadeia produtiva do setor de atuao, os mercados atuais e
potenciais e os avanos tecnolgicos que impactam da produo comercializao
de produtos e servios pode levar o empresrio a perder oportunidades significativas
de negcios, alm de colocar em risco no s seu crescimento e sua lucratividade,
como a prpria sobrevivncia da empresa.
A maior parte dos empresrios que gerem micro e pequenas empresas no
tem uma compreenso ampla sobre caractersticas, desejos, necessidades e
expectativas de seus consumidores e de seus clientes atuais (por exemplo, os
inmeros intermedirios que participam da cadeia produtiva entre o produtor e os
consumidores finais). Conseqentemente, esses empresrios tendem a desenvolver
produtos, colocar preos e selecionar canais de distribuio a partir de critrios que
atendem sua prpria percepo (s vezes, parcial e viesada) sobre como deve ser
seu modelo de negcios.
Uma identificao mais precisa do perfil dos clientes e consumidores atuais e
potenciais, bem como dos meios e das ferramentas que podem ser utilizadas para
atingir (fisicamente) e atender esses mercados ajudam o empresrio a concentrar
seus investimentos, suas aes e seus esforos de marketing e vendas nos produtos/
servios, mercados, canais e instrumentais que lhe garantam maior probabilidade
de aceitao, compra e, principalmente, fidelizao de consumidores. Esta ,
indiscutivelmente, uma das principais razes do sucesso das empresas de qualquer
porte.
As tendncias e as aes apresentadas neste conjunto de estudos fornecem
elementos norteadores ao empresrio com dois objetivos principais:
no curto prazo, apontar caminhos quase prontos para detectar, adaptar-se
e atender s demandas de novos mercados, novos canais de distribuio e
novos produtos, sempre visando agregar valor sua oferta atual valor este
definido a partir dos critrios do mercado, e no do empresrio.
no mdio e longo prazo, pela sua familiarizao com o uso dos instrumentos
apresentados e com a avaliao dos resultados especficos dos vrios tipos
possveis de ao, o empresrio estar habilitado a aumentar a sua prpria
capacidade de deteco e anlise de novos mercados, novos canais de
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
distribuio e novos produtos com maior valor agregado, acompanhando a
evoluo do ambiente de negcios (inclusive em termos tecnolgicos), de
forma a melhorar, cada vez mais, a qualidade de suas decises com foco
estratgico de mdio e longo prazo.
O empresrio, tendo as informaes destes estudos como suporte, ser capaz
de descortinar cenrios futuros e de antecipar tendncias que o auxiliaro a definir
suas estratgias de atuao, tanto individuais quanto coletivas.
Alm de informaes detalhadas sobre consumidores, fundamental que o
empresrio tenha levante, sistematicamente, informaes sobre os concorrentes e seus
produtos, o ambiente econmico regional e nacional e as polticas governamentais que
possam afetar o seu negcio. Assim, antes de estabelecer estratgias de marketing
ou vendas, preciso que o empresrio busque acesso a informaes confiveis sobre
o mercado em que atua, seja em nvel nacional, regional e local.
A informao consistente, objetiva e facilmente encontrada uma necessidade
estratgica dos empresrios. A competitividade do mercado exige hoje o acesso
imediato a informaes relevantes que auxiliem a tomada de decises empresariais.
Com esse conjunto de estudos, o SEBRAE disponibiliza um relatrio abrangente
sobre diferentes setores, com forte foco na anlise mercadolgica e que visa suprir
as carncias do empreendedor em relao ao conhecimento atualizado do mercado
em que atua, seus aspectos crticos, seus nichos no explorados, tendncias e
potencialidades.
Esta Anlise Setorial de Mercado mais uma das ferramentas que o SEBRAE
oferece aos empresrios de micro e pequenas empresas para que possam se
desenvolver, crescer e lucrar com maior segurana e tranqilidade, apoiados
em informaes que possibilitam a melhoria na qualidade da tomada de decises
gerenciais.
As informaes contidas no conjunto de relatrios foram obtidas, primordialmente,
por meio de dados secundrios, em mbito regional e nacional, com foco no mercado
interno. Cada relatrio disponibiliza para as MPEs atuantes no segmento estudado:
informaes de qualidade sobre oferta, demanda, estrutura de mercados,
cenrios e tendncias;
identificao de pontos fortes e fracos e das principais oportunidades e
ameaas que se delineiam para cada setor;
proposies de aes estratgicas que visam ampliar a viso estratgica
do empresrio sobre seu negcio e, sobretudo, apontar caminhos para a
agregao de valor aos produtos e servios atualmente comercializados por
essas empresas.
1.1 Metodologia utilizada
De forma sinttica, o estudo foi desenvolvido de acordo com o seguinte processo
metodolgico:
6
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
predominncia de pesquisas documentais (ou seja, via dados secundrios),
coletados junto a diversas fontes pblicas, privadas, de carter nacional,
regional ou local, sempre obtidas de maneira tica e legal;
para complemento, correo e confirmao dos dados obtidos por via
secundria, e na medida da disponibilidade para colaborar por parte de
acadmicos, experts e profissionais dos respectivos setores, foram realizadas
pesquisas qualitativas (por telefone e/ou e-mail).
Para tornar transparente a origem das informaes contidas nos relatrios, todas
as fontes primrias e secundrias consultadas so adequadamente identificadas no
captulo Referncias.
2. A MANDIOCA CARACTERSTICAS NATURAIS E CULTURAIS
A prodigiosa variedade da fauna e flora no Brasil participa intensamente da
moldagem das caractersticas culturais de seus habitantes. De nosso imaginrio, as
plantas e animais saltam para o cotidiano, fazendo-nos dar conta da grande contribuio
dos ndios no modo de vida e nas formas de pensar do brasileiro at os dias de hoje.
Quando o brasileiro utiliza a mandioca em suas inmeras aplicaes, a maioria
das quais, alimentares, est atualizando as heranas indgenas que o constituram.
A raiz, nativa do territrio sul-americano, foi largamente explorada pelas sociedades
pr-colombianas que, por ocasio da chegada do europeu ao continente, j a
cultivavam e a processavam. Seu nome de origem tupi, mandioca (mani-ca, a casa
de Mani), estabelece a fora de sua disseminao no pas com fortes condicionantes
histricos.
Uma das lendas sobre a origem da mandioca conta que a filha de um chefe
selvagem pariu uma criana a partir de uma gravidez misteriosa, que muito desgostara
seu pai. No entanto, o carisma da menina, surpreendentemente branca, fez os
aborrecimentos desaparecerem. Seu nome era Mani. Foi motivo de admirao e
curiosidade naquela e em outras tribos, tanto sua aparncia como pela precocidade
com que andou e falou. Subitamente, Mani morreu com um ano de idade, deixando a
todos muito tristes.
A criana foi enterrada dentro da prpria casa, em sepultura diariamente regada e
cuidada, conforme os hbitos de seu povo. Em pouco tempo, no local de sua sepultura
brotou uma vistosa planta, cujos frutos, quando ingeridos pelos pssaros, causavamlhes uma leve embriaguez. Os ndios, encantados com aquela novidade, escavaram a
terra para encontrar o que julgaram ser parte do corpo de Mani, devido sua colorao
muito branca. Desta maneira, os ndios aprenderam a usar a raiz e atriburam-lhe o
nome mani-ca, a casa de Mani (CMARA CASCUDO, s.d., p.545-46).
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
A mandioca um arbusto pertencente ordem Malpighiales, famlia
Euphorbiaceae, gnero Manihot e espcie Manihot esculenta Crantz. a nica,
dentre as 98 espcies conhecidas da famlia Euphorbiaceae, cultivada para fins
de alimentao. Estudos indicam que a planta ancestral da mandioca natural de
vegetao de galeria associada a rios, na zona de transio entre a floresta Amaznica
e o Cerrado, prxima s fronteiras entre Peru e Brasil (CARVALHO, 2005). As mais
recentes pesquisas agrcolas e arqueolgicas indicam que, provavelmente, a regio
amazonense foi o bero da mandioca, enquanto verses alternativas do conta de
seu surgimento no Peru (regio dos Andes) ou mesmo na frica.
Oriunda de regio tropical, a mandioca favoravelmente cultivada em climas
tropicais e subtropicais, com uma faixa de temperatura-limite de 20C a 27C, em
relao mdia anual; a temperatura mdia ideal para a atividade gira em torno de
24C a 25C (EMBRAPA, s.d.) A mandioca no tolera alagamentos nem congelamento
do solo e se desenvolve de maneira mais produtiva sob exposio direta ao sol.
Obedecidas as condies mnimas para seu desenvolvimento, a adaptao da planta
aos aspectos ambientais muito eficiente e, por isso, considerada uma cultura
rstica ou de quintal.
A resistncia da mandioca s condies climticas determinante na sua utilizao
como reserva alimentar nas regies de grande estiagem, como o caso do Nordeste
brasileiro. Por constituir grande fonte de carboidrato com baixos custos de produo,
tem importncia social significativa em pases tropicais de baixa renda (OHAIR, 1998).
Estimativas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa) do conta de
que o nmero de pessoas que obtm suas reservas habituais de carboidratos por
meio da mandioca est entre 600 e 700 milhes ao redor do mundo (FOLEGATTI;
MATSUURA, s.d.).
Um estudo realizado por FUKUDA (s.d.) evidencia que, alm de conter
carboidratos, a mandioca uma excelente fonte de betacaroteno (precursor da
Vitamina A) nas razes de colorao amarela e de licopeno nas razes de colorao
rosada. A partir desta constatao, possvel adaptar a escolha das variedades a
serem cultivadas em cada regio, em funo de deficincias alimentares especficas.
Na Tabela 1 esto relacionadas as propriedades nutricionais mdias da mandioca.
importante notar que as folhas da planta no so, at este momento, utilizadas
rotineiramente para consumo humano, sendo agregadas alimentao animal, como
uma forma barata para adicionar protena s raes.
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Tabela 1 Composio nutricional da raiz e folha de mandioca
Componentes
Raiz
Folha
Umidade (g/100g)
60-65
70-75
Carboidratos (g/100g)
30-35
14-18
Protenas (g/100g)
0,5-2,5
7,0
Lipdios (g/100g)
0,2-0,4
1,0
A (g/100g)
50
960-3.000
B1 (g/100g)
120-250
B2 (g/100g)
270-600
C (mg/100g)
25
29-31
Niacina (mg/100g)
1,7-2,4
Clcio (mg/100g)
50
300
Ferro (mg/100g)
0,9
7,6
Fsforo (mg/100g)
40
119
Vitaminas:
Minerais:
Fonte: FOLEGATTI, M.; MATSUURA, F. Mandioca e Derivados. Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura, [s.d.]
Em geral a raiz da mandioca (a parte mais utilizada) branca, mas pode adquirir
colorao avermelhada ou amarelada, dependendo da variedade. As mudanas
tambm podem ser notadas no formato das folhas e do caule.
2.1 Variedades de mandioca
H uma grande variedade de nomes atribudos mandioca, alguns de cunho
regionalista, outros denominando espcies diferentes da planta. Dependendo da
regio, pode ser popularmente conhecida como:
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
[...] aipim, aimpim, candinga, castelinha, macamba, macaxeira, macaxera,
mandioca-brava, mandioca-doce, mandioca-mansa, maniva, maniveira, moogo,
mucamba, po-da-amrica, po-de-pobre, pau-de-farinha, pau-farinha, tapioca, uaipi,
xagala. (RETEC-BA, 2006)
Segundo Perez (2007), a sabedoria popular tem transmitido, gerao aps
gerao, a diferena entre dois grupos genricos de variedades: as mandiocas
bravas, cuja concentrao de cianognicos a tornam altamente txica para o consumo
humano ou animal; e as mandiocas doces ou mansas, cujo consumo com pouco
processamento mais seguro. Hoje, as mandiocas mansas so conhecidas como
as variedades de mesa. De fato, esta diferenciao corroborada pela pesquisa dos
cultivares conhecidos da planta, que diferem em termos de forma, tamanho, colorao
e composio (amido, acar e vitaminas, por exemplo).
As mandiocas bravas possuem sabor amargo e so destinadas, quando para
fins alimentares, sobretudo para a produo de farinha ou fcula. J as mansas, cujo
teor de toxinas menor, so preparadas domesticamente para consumo in natura. O
preparo por fritura ou cozimento so os mais comuns.
importante destacar, porm, que doce ou amarga so caracterizaes que
no possuem grande preciso, uma vez que estas propriedades de sabor no esto
necessariamente ligadas produo dos glucosdeos cianognicos, que so a base
da toxidade da mandioca. Portanto, o cuidadoso estudo das variedades fundamental
para minimizar os riscos de intoxicao. Em pessoas com m nutrio, por exemplo,
mandiocas bravas processadas de maneira inadequada podem ocasionar srios
problemas de sade (OHAIR, 1998).
O fato da cultura da mandioca ser considerada rstica e de quintal pode
associar a ela um sentido pejorativo, pois leva a crer que seu cultivo pouco lucrativo,
exclusivamente voltado sobrevivncia e de tecnologia rudimentar. No entanto, como
alerta Perez (2007), a disseminao domstica na cultura foi fundamental para que se
chegasse atual diversidade gentica. Cerca de 7 mil variedades esto disponveis
para melhoramento gentico, concentradas nos principais bancos de germoplasma do
pas: o Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura (CNPF, da Embrapa),
o Cenargen (da diviso Recursos Genticos e Biotecnologia da Embrapa), a Empresa
de Pesquisa Agropecuria e Extenso Rural de Santa Catarina (Epagri), o Instituto
Agronmico de Campinas (IAC) e a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
(ESALQ USP), em Piracicaba. A preservao desta diversidade importante, pois
permite o trabalho de melhoramento gentico de mudas e garante o suprimento de
cultivares adequados para cada situao de cultivo.
Outra forma de se classificar os cultivares de mandioca de acordo com a
durao do ciclo entre o plantio e a colheita. As trs categorias usualmente conhecidas
so as precoces (de 10 a 14 meses), semiprecoces (de 14 a 16 meses) e as tardias
(mais de 18 meses).
Os nomes comuns dos cultivares tm duas origens: denominaes regionais,
tradicionalmente estabelecidas; e cdigos institucionais, a partir da criao de
10
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
variedades em laboratrios de pesquisa. Na Tabela 2, que lista cultivares adequados
para as regies Nordeste e Sul, possvel observar ambos os casos.
Tabela 2 Variedades recomendadas para cultivo no Nordeste e Sul do Brasil
Nordeste
Sul
Formosa
Mani Branca
Arari
BRS Guair
BRS Mulatinha
BRS Dourada
BRS Gema de Ovo
Crioula
Amansa Burro
Rosa
Fibra
Olho Junto
Fcula Branca
Mico
IAC 14
IAC 13
Fonte: EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA TROPICAL. Perguntas e respostas: mandioca. Disponvel em:
<http://www.cnpmf.embrapa.br>. Acesso em: 23 abr. 2007.
2.1.1 Melhoramento gentico
H um grande nmero de organizaes governamentais e privadas - que incluem
acadmicos, pesquisadores e agricultores - desenvolvendo trabalhos de melhoramento
gentico. Essas alteraes tm objetivos comerciais, sociais e cientficos, como a
identificao e gerao de novas variedades de mandioca. As propriedades buscadas
com essas aes so maior valor nutricional, maior concentrao de amido e menor
teor de cido ciandrico, dentre outros atributos que tornem as novas variedades mais
completas, competitivas e atraentes para o mercado.
Um exemplo de melhoramento do valor nutricional o trabalho com a variedade
Rosada, desenvolvido por meio de parceria entre a Embrapa e o Centro Internacional
de Agricultura Tropical (CIAT) de Cali, Colmbia - o detentor do maior banco de
germoplasma de mandioca no mundo. Por meio de pesquisas genticas, j foi possvel
aumentar o teor de licopeno, um antioxidante recomendado na preveno do cncer,
principalmente o de prstata (FUKUDA, 2007).
O aumento do teor de amido importante para a indstria de farinha e fcula,
pois garante maior produtividade na utilizao desta matria prima. O cultivar BRS
Prata tem grande presena no semi-rido da Bahia e em Pernambuco, onde apresenta
desempenhos diferenciados: seu rendimento mdio de 31,7 toneladas por hectare,
em contraste aos 10,2 t/ha da variedade local (FUKUDA, 2007).
Outros estudos1 tm trabalhado com a hibridizao de variedades mansas e
bravas, observando o teor de HCN (cido ciandrico) na polpa da raiz. As concluses
1
Como em VALLE, Teresa Losada et al. Contedo cianognico em prognies de mandioca originadas do
cruzamento de variedades mansas e bravas. Bragantia, Campinas, v. 63, n. 2, 2004.
11
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
apontam que as mdias do ndice HCN/kg das descendentes muito prxima mdia
das parentais, porm existem variantes com maior e menor potencial cianognico.
Isto indica a possibilidade de se utilizar variedades bravas para o melhoramento de
variedades mansas, aumentando significativamente as possibilidades de combinao
entre os gentipos.
A Tabela 3 relaciona alguns cultivares selecionados e trabalhados no Projeto
Mandioca Brasileira iniciado em 1996, com vistas ao seu melhoramento gentico.
Tabela 3 Cultivares integrantes de projeto de melhoramento no Projeto Mandioca Brasileira, divididos por
regio
Regies
Nordeste
Norte
CentroOeste
Sudeste
Sul
Estados
Cultivares
Maranho
Goela de Jacu
Piau
Vermelhinho, Amansa Burro, Babuti, Maria dos Anjos
Cear
Jabur, EAB-451
Paraba
Chapu de Couro, Passarinha
Pernambuco
Passarinha, Aipim Bravo Branco, Amazonas, Escondida, Guagiru, Riqueza
Alagoas
SIPEAL-01, Roxinha, Var. 77, Jaburu
Sergipe
Aipim Bravo Branco, Cigana Preta, Itapicur da Barra, Unhinha, Caravela,
Mangue
Bahia
Maria Pau, Paulo Rosa, Var. 77
Par
Tapioqueira, Chapu de Sol, Inaj, Sacai
Amazonas
Paulo Rosa, Cachimbo
Amap
Acreana
Braslia
IAC-24-1, IAC-14-18,IAC352-6, 1AC-352-7, IAC12-829, IAC-7-127
Minas Gerais
Sonora, IAC-14-18, IAC-12-829, Engana Ladro
So Paulo
IAC-12-829, IAC-567-70
Rio de Janeiro
Licona, So Paulo, Mirim, Cano de Espingarda, Julio, Unha, SFG-696
Esprito Santo
Unha, Veada, Amazoninha Preta, Sutinga, Po do Chile, Julio Roxo, Sinh Est
na Mesa, Cacai, Ovo
Santa Catarina
Mico, Aipim Gigante, Mandim Branca, EMPASC-25, P. Machado, Taguari SRT
1090
Rio Grande do Sul
Mico, Taguari
Fonte: FAO. A review of cassava in Latin America and the Caribbean with countries: case studies on Brazil and
Colombia. Disponvel em: <http://www.fao.org/docrep/007/y5271e/y5271e07.htm>. Acesso em: 15 maio 2007.
12
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
2.2 Contextualizao histrica da cultura da mandioca
Fcil produo, grande disseminao territorial e alta adaptabilidade ao clima
do continente sul-americano propiciaram a extensa incorporao da mandioca aos
hbitos alimentares das populaes pr-colombianas. Hoje, o Brasil figura como o
segundo maior produtor mundial da raiz, atrs da Nigria.
Estima-se que sua plantao intencional pelo homem comeou h cerca de 9
mil anos, o que refora a tradio do seu consumo. Relatos de 1573 do cronista
Magalhes Gandavo j faziam meno existncia da mandioca no Brasil e s suas
diversas variedades. Os mtodos razoavelmente uniformes utilizados pelos nativos das
diferentes regies incluam um perodo de descanso do solo, uma vez que a mandioca
absorve mais nutrientes que a maior parte das culturas tropicais. Uma vez conhecida
pelos portugueses, foi levada frica, servindo de alimentao aos colonizadores
e aos escravos transportados atravs do Oceano Atlntico, em direo s Amricas
(CAMARGO, s.d.). A partir de ento, passou a assumir grande importncia no combate
fome no continente:
Dentre todos os gneros do complexo americano, foi a mandioca o produto
agrcola que mais influenciou e transformou a fisionomia da agricultura da frica central.
Das costas angolanas vai ela penetrar cada vez mais profundamente o corao da
frica central, desempenhando assim um importante papel na histria agrria destas
sociedades. (MAESTRI FILHO apud CAMARGO, 2007)
Alguns produtos derivados da mandioca elaborados pelos ndios e logo
conhecidos pelos portugueses foram: mbeu (produto semelhante ao atual beiju);
mambeca (ancestral do piro); poqueca; curuba; cica; e puba (MAESTRI FILHO
apud CAMARGO, 2007). Os ndios processavam a raiz, ralando-a, comprimindo-a
e cozinhando-a (processos que retiram naturalmente sua potencial toxidade); seu
uso principal era na forma de farinha. Com o aprendizado das tcnicas indgenas,
foi tambm usada pelos bandeirantes como fonte de alimento duradoura e fcil de
transportar durante suas expedies ao interior do continente.
Hoje, no Brasil, ainda existem muitas comunidades que dependem fortemente
da mandioca e da sua farinha para sobrevivncia. Seu cultivo explorado sob o ponto
de vista comercial e como cultura de subsistncia. A conservao de variedades
diferentes valorizada pelos grupos de agricultores, dadas as diferenas nutricionais
de cada cultivar:
[...] estes agricultores tm mantido esta diversidade sob uma forma de conservao
que tecnicamente designado como conservao on farm, ou seja, em seus prprios
campos de cultivo, sob sua tutela. E, em todos os casos de agricultores tradicionais
no Brasil, pode-se chegar a mesma concluso, ou seja, a dependncia mtua,
as populaes humanas conservam as variedades, e estas variedades que vo
proporcionar alimento e autonomia em seus sistemas de cultivo. (PEREZ, 2007)
13
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
3. CONTEXTO MUNDIAL DO MERCADO DA MANDIOCA
A mandioca se disseminou rapidamente aps sua insero no continente africano,
que hoje detm grande parte da produo mundial. Dos vinte maiores produtores
mundiais, onze se encontram naquele continente, seguido da sia (predominantemente
o sudeste), com 06 pases. A Amrica do Sul tem trs representantes: Brasil, Paraguai
e Colmbia, nesta ordem. Da produo mundial, a frica responsvel por 54,5%; a
sia, por 27,8%; e a Amrica Latina, 17,7%. O Grfico 1 mostra a produo dos dez
maiores no mundo.
Grfico 1 Dez maiores produtores mundiais de mandioca (em ton 2005)
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
-
Fonte: FAOSTAT. Faostat database. Disponvel em: <www.faostat.org>. Acesso em: 15 mar. 2007.
O maior produtor mundial a Nigria. So produzidas aproximadamente 41,5
milhes de toneladas de mandioca, a maior parte consumida no prprio pas. De acordo
com GROXKO (2006), praticamente no h, nos pases africanos, indstrias dedicadas
ao processamento da mandioca, sendo o consumo quase que exclusivamente in natura;
ela comercializada em pequenas quantidades nas feiras, mercearias e propriedades
produtoras. Esta produo africana, que pouco se dedica a agregar valor ao produto,
apresentou um crescimento significativo nas ltimas dcadas.
Em segundo lugar aparece o Brasil, que segue a tendncia de diversos pases da
Amrica Latina e do sudeste asitico ao focar sua atuao na crescente industrializao
da mandioca. Atualmente, a produo brasileira gira em torno de 25,5 milhes de
toneladas da raiz, o equivalente a 60% da quantidade da Nigria.
A produtividade (medida em toneladas/hectare) varia bastante entre os pases.
Nger, situado no norte da frica, possui o maior ndice: 49,1 t/ha. O Brasil est situado
acima da mdia neste quesito: sua produtividade de 13,6 t/ha versus a mdia de
10,9 t/ha de todos os pases produtores (dados de 2005).
Os maiores produtores, no entanto, no apresentam diferenas significativas com
relao produtividade, o que mantm a ordem dos pases na lista de rea dedicada
produo da mandioca bastante semelhante lista por quantidade produzida.
14
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Novamente, Nigria e Brasil lideram o ranking, com 3.782 mil e 1.901 mil hectares,
respectivamente.
Dados da FAO (Food and Agriculture Organization rgo da ONU dedicado a
estudos e aes relativas alimentao mundial) revelam que hoje a China o maior
importador do mundo de mandioca e seus derivados. Em 2005 foram aproximadamente
9,5 milhes de toneladas, quase 3,5 vezes mais que a soma dos outros nove maiores
importadores (Tabela 4). No grupo abaixo, tambm aparecem pases desenvolvidos
como Espanha, Japo, Estados Unidos e Holanda.
Tabela 4 Maiores importadores de mandioca e derivados (em toneladas 2005)
Pas
Quantidade importada
China
9.584.571
Coria do Sul
495.292
Espanha
479.612
Malsia
405.464
Indonsia
380.561
Japo
352.567
Estados Unidos
278.636
Holanda
145.646
Filipinas
140.791
Portugal
105.324
Fonte: FAOSTAT.
Apenas 6% da produo mundial de mandioca exportada. Algumas
oportunidades se desenvolveram gradativamente no mercado externo a partir de
decises favorveis na Organizao Mundial do Comrcio (OMC) em 2004. Tanto
a Unio Europia (UE - que importa a maioria da mandioca dos pases do sudeste
asitico) quanto os Estados Unidos mantm polticas protecionistas de subsdios
exportao e barreiras importao de seus produtos agrcolas, visando aumentar
sua competitividade (CARDOSO; ALVES; FELIPE, s. d.).
A mandioca sofre particularmente com essas barreiras, uma vez que
considerada como um substituto direto de culturas locais importantes como milho,
batata e trigo. Apesar dos avanos nas negociaes internacionais, as dificuldades
para a exportao de mandioca continuam grandes.
15
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
O maior exportador de mandioca e derivados a Tailndia, quarta maior
produtora (vide Tabela 5). Em 2005 foram aproximadamente 10 milhes de toneladas,
abastecendo quase 80% do mercado europeu (que, conforme mencionado mais
acima, privilegia o sudeste asitico como seu fornecedor). O Brasil o 6 colocado no
ranking dos pases exportadores, mas o volume efetivamente exportado representa
apenas 0,5% do total mundial, o que, em parte, se deve ao volume extremamente alto
exportado do primeiro pas da lista, a Tailndia.
Estes dados demonstram a caracterstica de vizinhana da produo e do
consumo de mandioca: os mercados locais so os mais importantes para os produtores.
Essa constatao confirmada pela lista de maiores consumidores (conforme dados
da Tabela 6), uma vez que a maioria dos pases exportadores tambm consta da lista
de maiores produtores. J nos dados de consumo per capita, h clara predominncia
dos pases africanos; assim fica evidente o papel da mandioca como alimento de
segurana nacional para estas populaes.
Tabela 5 Maiores exportadores de mandioca e derivados (em toneladas 2005)
Pas
Quantidade exportada
Tailndia
10.033.218
Vietn
1.668.077
Indonsia
868.295
Costa Rica
177.528
China
84.780
Brasil
74.573
Holanda
65.497
Paraguai
42.126
Colmbia
32.023
Equador
29.632
Fonte: FAOSTAT.
16
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Tabela 6 Maiores consumidores mundiais de mandioca (2005)
Pas
Consumo alimentar
(em mil toneladas)
Pas
Consumo por dia / per
capita (g)
Nigria
15.150
Angola
787,4
Repblica Democrtica do
Congo
13.995
Moambique
680,5
Indonsia
12.027
Repblica Democrtica do
Congo
652,7
Tailndia
7.529
Repblica do Congo
636,9
Brasil
7.156
Gana
545,9
ndia
6.447
Libria
389,9
Tanznia
5.239
Tanznia
373,1
Moambique
5.099
Guinea
351,9
Angola
4.625
Repblica Centro-Africana
347,2
Gana
4.490
Uganda
328,0
Fonte: FAOSTAT.
4. EVOLUO HISTRICA DE MERCADO E PRODUO NO BRASIL
A raiz da mandioca constitui um dos principais fontes de carboidratos de uma
parte significativa da populao de baixa renda no Brasil. Seu consumo ocorre tanto
por meio da compra do produto e de seus derivados quanto pela produo domstica.
Por conta da disseminao da mandioca em plantaes de quintal, o volume agregado
nacional efetivo de difcil mensurao. Os dados oficiais levam em conta apenas
a quantidade que passa por etapas formalizadas de comercializao. A compra de
mandioca e de seus derivados pelas famlias com renda inferior a um salrio mnimo
de 10% da despesa anual com alimentao, colocando-a em segundo lugar nos
gastos alimentares dessa populao, atrs apenas do feijo, que representa 13%
(CARDOSO, 2003).
A escolha pelo cultivo da mandioca se d em funo de algumas caractersticas,
como a alta produtividade em relao a outros alimentos (GAMEIRO, s.d.), a
adequao do produto s condies naturais (climticas e de solo) de quase todo o
pas e a flexibilidade da poca de colheita possvel atrasar a colheita sem prejuzo
de qualidade, a espera de preos mais adequados de mercado. O resultado a
17
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
consolidao do Brasil como segundo maior centro produtor do mundo, com volumes
que representam 12,5% da produo mundial, de acordo com dados da FAO.
Em termos econmicos, estima-se que as atividades ligadas ao cultivo da
mandioca e seu processamento em farinha e fcula gerem aproximadamente um
milho de empregos diretos (CARDOSO, 2003, p. 5). A receita bruta anual dessa
atividade ficou em R$ 4,1 milhes no ano de 2005, o que representa cerca de 4,3% da
produo agrcola brasileira (IBGE, 2005).
Observando os dados de produo de mandioca no pas (Tabela 7), nota-se
um crescimento mdio de 4,2% nos ltimos cinco anos. Este movimento representa
uma recuperao gradativa das perdas sofridas na segunda metade da dcada de
90, quando o setor sofreu um grande abalo no volume produzido. As oscilaes para
baixo, que remontam ao incio dos anos 70 (quando os nveis de produo atingiam
30 milhes de toneladas), deveram-se substituio da farinha de mandioca por
massas (como macarro, cuja base a farinha de trigo) na alimentao do brasileiro
e substituio dos preparados base de raizes e folhas de mandioca por raes
balanceadas para a alimentao animal (GROXKO, 2006). As oscilaes de preo
tambm so vistas com desconfiana pelos produtores, o que contribuiu para a
estagnao do setor durante esse perodo.
Tabela 7 Evoluo da produo brasileira de mandioca
2006
(est.)
Mdia
Crescimento
Mdio (%)
21.961,1 23.926,6 25.725,2
27.552
24.134,6
4,2
1.675,3
1.633,6
1.754,9
1.886,4
1.935,2
1.758,8
3,1
13,8
13,4
13,6
13,6
14,2
13,7
1,0
2002
Produo (em
1000 toneladas)
23.065,6
rea colhida (em
1000 hectares)
Produtividade
(ton/hectare)
2003
2004
2005
Fonte: IBGE. Levantamento sistemtico da produo agrcola. Rio de Janeiro: 2006.
Tambm se observa uma recuperao na rea dedicada ao cultivo, porm em
ritmo menor (crescimento mdio de 3,1% entre 2002 e 2006) que o da produo.
Este nmero indica um aumento de produtividade das lavouras, cuja mdia estimada
em 2006 foi de 14,2 toneladas por hectare. Logicamente, h diferenas entre a
produtividade dos diversos estados e regies, em funo das condies climticas,
dos cultivares plantados e do aproveitamento de fertilizantes das culturas de soja e
milho.
O Nordeste se destaca como a principal regio brasileira produtora de mandioca,
com 35,9% da produo nacional; o Norte responsvel por 25,2% e o Sul por 23,1%.
Conseqentemente, os cinco maiores estados produtores pertencem s trs regies:
Par, Bahia, Paran, Maranho e Rio Grande do Sul. Em termos de produtividade, o
18
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Paran atinge um ndice significativo (21,4 ton/ha), atrs apenas de So Paulo (23,2
ton/ha). Estes dados encontram-se consolidados nas Tabela 8 e Tabela 9.
Tabela 8 Representatividade das regies do Brasil na produo de mandioca
Regio
Participao na produo nacional (%)
Nordeste
35,9
Norte
25,2
Sul
23,1
Sudeste
9,7
Centro-Oeste
6,0
Fonte: IBGE. Produo agrcola municipal (PAM). Rio de Janeiro: 2005.
Tabela 9 Produo (ton.) e rea colhida da banana nos maiores estados produtores
Ano
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Par
Bahia
Paran
Maranho
R. Grande do Sul
rea
rea
rea
rea
rea
Produo
Produo
Produo
Produo
Produo
colhida
colhida
colhida
colhida
colhida
3.815
3.870
3.531
4.067
4.079
3.995
4.129
4.469
4.446
5.082
289
285
262
282
293
282
272
293
298
315
2.937
3.047
2.884
3.153
4.144
3.568
4.089
3.898
4.160
4.414
245
244
249
256
319
287
325
330
334
350
2.584
2.941
3.198
3.494
3.778
3.615
3.456
2.355
2.967
4.255
116
138
153
165
183
173
144
111
151
199
615
674
813
829
939
1.034
1.139
1.241
1.340
1.719
107
113
133
125
135
141
150
165
173
212
1.024
1.385
1.317
1.306
1.298
1.262
1.276
1.315
1.235
1.306
99
97
94
90
90
85
85
89
88
88
Fonte: IBGE, 2005.
Dentre os estados com os maiores municpios produtores, destaca-se o Par,
representado por seis deles. Os demais so do Amazonas (dois deles), Bahia e Sergipe
(Tabela 10). Alm de extensas reas de cultivo, notria a boa produtividade obtida
nestas localidades, sendo sete delas acima da mdia nacional. Alguns municpios
do Sul e Sudeste tambm apresentam um desempenho bastante superior mdia
nacional: Paulnia (So Paulo) tem rendimento de 46,22 t/ha e; Arco-ris (tambm em
So Paulo), 44,6 t/ha; j em Aurora (Par), a produtividade foi de 22 t/ha.
19
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Tabela 10 Dez maiores municpios produtores de mandioca (Brasil 2005)
Municpio
Estado
rea colhida (ha)
Produo (ton)
Acar
Par
45.000
720.000
Cndido Sales
Bahia
23.000
299.000
Ipixuna do Par
Par
16.000
288.000
Aurora do Par
Par
10.200
224.400
Manicor
Amazonas
11.264
157.696
Santarm
Par
15.000
150.000
Lagarto
Sergipe
7.800
148.200
Itaituba
Par
9.800
147.000
Tef
Amazonas
11.300
146.900
Alenquer
Par
6.500
130.000
Fonte: IBGE, 2005.
A produo do Nordeste conta com a presena de centenas de casas de
farinha, dedicadas produo de pequenos volumes de farinha de mandioca, tanto
seca quanto dgua (ver a caracterizao de cada uma no item Produtos Derivados).
O produto consumido quase exclusivamente na prpria regio. J a quantidade
gerada no Sul/Sudeste destina-se predominantemente ao processamento industrial,
para a produo de farinha, fcula e outros derivados. Estes so utilizados tanto na
indstria alimentcia quanto em outras aplicaes.
4.1 Importaes e exportaes brasileiras da mandioca
Em 2005 a importao de mandioca e produtos derivados pelo Brasil foi de 33 mil
toneladas (que o coloca como o 22 maior importador), um volume grande em relao a
muitos pases, porm irrisrio frente produo nacional. A evoluo das quantidades
importadas mostra um crescimento intenso a partir de 1997 e, predominantemente,
em 2003 e 2004 (Grfico 2).
O principal responsvel por estes nmeros foi a fcula, utilizada pelas empresas
modificadoras de amido e que o fornecimento nacional no conseguiu suprir. A
escassez ocorreu devido maior demanda por amido em alguns processos industriais
(CARDOSO; ALVES; FELIPE, 2007, p. 7). Os preos elevados no mercado interno
levaram os potenciais compradores a comprar a fcula no exterior, especialmente em
pases como a Tailndia e Paraguai (Tabela 11).
20
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Grfico 2 Evoluo das importaes brasileiras de mandioca e derivados (toneladas)
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fonte: FAOSTAT.
Tabela 11 Pases de origem das importaes brasileiras de fcula de mandioca
Ano
2001
2002
2003
2004
2005
Total (toneladas)
3.302
12.395
27.123
58.329
9.635
Tailndia
3.280
12.346
21.161
8.557
9.399
Paraguai
5.902
43.617
222
Estados Unidos
34
36
24
10
Alemanha
176
Fonte: IBGE, 2006.
A grande demanda interna por mandioca, farinha, fcula e outros derivados
suficiente para absorver a quase totalidade da produo nacional, e a quantidade
de produto exportado, conforme j comentado, ainda pequena (74,5 mil toneladas,
representando apenas 0,5% do total mundial). Mais uma vez, a fcula um dos
derivados da mandioca mais importantes na exportao, tendo como destinos
principais Estados Unidos, Holanda, Uruguai e Argentina.
Cabe, porm, destacar a grande concentrao das exportaes, o que justifica
a sexta colocao que o Brasil assume: 94,5% das exportaes mundiais esto nas
mos de apenas trs pases: Tailndia, Vietn e Indonsia.
21
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Tabela 12 Pases de destino das exportaes brasileiras de fcula de mandioca
Ano
2001
2002
2003
2004
2005
Total
(toneladas)
17.936
24.780
15.741
8.444
11.545
Estados
Unidos
933
2.268
2.487
3.537
3.910
Holanda
58
116
578
1.526
2.415
Uruguai
1.063
1.131
884
202
1.068
Argentina
4.188
2.727
3.850
503
842
Fonte: IBGE, 2006.
5. CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA DESTINADA INDSTRIA
Apesar de possurem alguns pontos em comum, as redes de entregas de valor
voltadas para a mandioca de mesa e para a mandioca destinada indstria criam
dinmicas de mercado bastante distintas, devido participao de agentes exclusivos
para um ou outro tipo de finalidade. As figuras 1 e 2 resumem os principais elos de
ambas as cadeias.
22
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Figura 1 Cadeia agroindustrial da mandioca de mesa
Fonte: BARROS, Geraldo SantAna de C. (coord.). Melhoria da competitividade da cadeia agroindustrial de mandioca no Estado de So Paulo. So Paulo/Piracicaba: Sebrae/CEPEA (ESALQ/USP), 2004, p. 35.
Na cadeia agroindustrial da mandioca de mesa percebe-se, fundamentalmente,
dois caminhos para a comercializao do produto: in natura (ou seja, sem nenhum
tipo de transformao) ou minimamente processada (na qual a mandioca passa por
transformaes simples, que reduzem ao mximo a modificao do alimento para
consumo).
Este segundo tipo vem apresentando tendncia de crescimento, uma vez que
procura unir duas caractersticas exigidas pelos consumidores modernos: a praticidade
e a busca por alimentao saudvel. O fator mais restritivo da comercializao da
mandioca minimamente processada sua alta perecibilidade. Neste contexto, so
fundamentais a ateno com: a reduo do perodo de tempo entre a colheita e o
tratamento; os processos de sanitarizao; a escolha de embalagens adequadas; e a
temperatura adequada de transporte e armazenamento (MELO; SILVA, ALVES, s.d.).
A mandioca in natura tem grande venda nas Ceasas (as Centrais de Abastecimento
regionais), nas feiras livres e nos supermercados. Canais informais tambm so
utilizados, como barracas montadas beira das estradas e at a venda em carrinhos
23
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
de mo, apesar de o volume ser menos expressivo. Ela pode ser vendida com casca,
sem casca ou at congelada.
Figura 2 Cadeia agroindustrial da mandioca destinada indstria
Fonte: BARROS, 2004, p. 35.
A cadeia da mandioca destinada indstria (que o foco deste relatrio)
possui maior nmero de elementos intermedirios/agentes entre os mandiocultores
e o consumidor final, uma vez que as razes passam por processos mais complexos
e tambm integram, como matria-prima, a produo de diversos produtos
industrializados. Os dois principais produtos desta rede de valor so a farinha e a
fcula de mandioca; esta ltima, em especial, oferece diversas possibilidades de
aplicao, tanto dentro quanto fora do setor alimentcio.
5.1 Caracterizao dos produtores
Podem ser identificados trs tipos de unidades produtivas na mandiocultura
brasileira. O primeiro tipo a unidade domstica. Nela, predominam pequenos
produtores que empregam pouca tecnologia, muitas vezes com reduzido ou nenhum
24
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
uso de fertilizantes e agrodefensivos. Este tipo de processo, desenvolvido manualmente
da plantao colheita, comum nas plantaes que abastecem o consumo local
e que, em geral, so dedicadas s variedades mansas. Pode ser encontrado em
praticamente todos os Estados, mas assume importncia maior no Nordeste do pas
(FOLEGATTI; MATSUURA, 2007).
O segundo tipo de unidade a familiar, estabelecida em reas pequenas ou
grandes, com maior ou menor grau de tecnologia. Produtores de maior porte j operam
com mquinas que aumentam a eficcia dos processos produtivos e apresentam
condies de competitividade para ingressar na cadeia produtiva da mandioca
destinada indstria. Este tipo de propriedade detm uma parte significativa do
mercado.
Por fim, existe a unidade empresarial, que se distingue pela contratao de mode-obra de terceiros. O nvel tecnolgico nem sempre fator distintivo, uma vez que
os investimentos podem ser muito semelhantes aos produtores familiares. Tambm
possuem boa participao de mercado, em especial nos estados do Sul e Sudeste, e
participando fortemente das cadeias voltadas transformao industrial da mandioca
(BARROS, 2004, p. 33).
A competitividade estabelecida pelas indstrias de processamento tem levado as
unidades domsticas a se afastar cada vez mais do mercado industrial, mantendo este
espao reservado para unidades familiares e empresariais. Isto se deve s exigncias
de qualidade e profissionalizao, importantes na estabilidade das especificaes do
produto que uma exigncia e uma necessidade das empresas transformadoras.
Entretanto, as unidades domsticas continuam exercendo um papel fundamental na
alimentao da populao rural de baixa renda.
5.1.1 Cooperativas e associaes
Muitos produtores individuais e familiares de mandioca no participam das
associaes e cooperativas j estabelecidas. Entretanto, a representatividade de
algumas destas deve ser destacada.
A Associao Brasileira de Produtores de Amido de Mandioca (ABAM)2 uma
delas. A ABAM desenvolve forte atividade de pesquisa e de divulgao de boas
prticas nas lavouras e nas indstrias de processamento de mandioca. Age como
representante dos produtores, defendendo seus interesses no dilogo com outras
instncias da sociedade, como governo, comrcio e imprensa. O Sindicato de
Indstrias de Mandioca do Paran (SIMP)3 possui uma base numerosa de associados,
de produtores a fecularias, servindo de sustentao em termos de informaes e
orientaes.
Outras organizaes coletivas como a Coopervale (PR) e a Coopasub (BA) tm
sido de extrema importncia para os pequenos produtores associados em diversas
etapas de suas atividades, desde a disponibilizao de equipamentos para produo de
2
ABAM. Disponvel em: <http://www.abam.com.br>.
SIMP. Disponvel em: <http://www.simp.org.br>.
25
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
fcula at financiamento e vendas conjuntas. A Coopatan (Cooperativa de Produtores
Rurais de Presidente Tancredo Neves BA) tambm desenvolve parcerias com outros
organismos de apoio (como o Sebrae e a Embrapa), busca de melhores condies
competitivas para seus associados.
5.1.2 Instituies de apoio
Pela importncia nacional da mandiocultura, foi natural o surgimento de uma
srie de instituies especialmente pblicas destinadas a apoiar essa atividade. A
ttulo de ilustrao, o Instituto Agronmico de Campinas (IAC) um dos mais ativos,
conduzindo um nmero significativo de pesquisas de carter gentico, fitotcnico e
fitossanitrio desde a dcada de 30 (PEREZ, 2007).
Os bancos de germoplasma, de forma geral, devem ser lembrados como
entidades relevantes no desenvolvimento da mandiocultura. Alm da preservao das
espcies, estas instituies so importantes para conservar a agrobiodiversidade e
oferecer aos agricultores cultivares comerciais, mais resistentes que os naturais em
relao a pragas.
A Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical de Cruz das Almas (BA), importante
agente de apoio e pesquisa, inaugurou, em maio de 2006, o Centro de Tecnologia
em Mandioca (CTM), dedicado a capacitar produtores no processo de transformao
da raiz. A expectativa da entidade que o suporte oferecido venha a ter alcance
nacional e internacional. As dependncias da instituio incluem casa de farinha,
fecularia, rea de panificao e de captao de manipueira (lquido extrado durante o
processamento da mandioca e que deve ser tratado, por ser altamente txico), todos
importantes para a gerao de valor agregado na oferta de mandioca (PORTAL DO
AGRONEGCIO, s.d.).
Outros importantes centros de pesquisa e de treinamento do agricultor e/ou do
empresrio o SEBRAE, que desenvolve um valioso trabalho de capacitao junto
a pequenos produtores. O CEPEA (Centro de Estudos Avanados em Economia
Aplicada), ligado Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (USP), outro
tradicional centro irradiador de conhecimento, fundamental na cadeia paulista do
agronegcio.
Muitas outras entidades de menor porte freqentemente de mbito regional
podem ser encontradas, porm no h uma listagem oficial com todas as que apiam
a cadeia produtiva da mandioca. Entre as mencionadas com maior freqncia,
encontram-se: o Centro Tecnolgico da Mandioca (CETEM); a Associao das
Indstrias de Derivados de Mandioca do Paran (ASSIMAP); e a Associao Tcnica
das Indstrias de Mandioca do Paran (ATIMOP).
Finalmente, vale lembrar que, da relao direta entre produtores e governo,
constituiu-se a Cmara Setorial da Cadeia Produtiva da Mandioca, cuja finalidade
propor, apoiar e acompanhar aes para o desenvolvimento das atividades dos
setores a ele associados (MANDIOCA BRASILEIRA, 2007).
26
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
5.1.3 Arranjos Produtivos Locais (APLs)
Crescem em importncia na literatura administrativa as referncias a clusters
ou arranjos produtivos locais (APLs). Em paralelo ao debate sobre a globalizao
(e, s vezes, at em funo dele), mantm-se a preocupao de autores, polticos
e produtores com respeito a questes relacionadas localizao das atividades
produtivas. Apesar da reduo das distncias propiciadas por tecnologias aprimoradas
de comunicao e transporte, o fator geogrfico continua influenciando fortemente
nas dinmicas e nos resultados das mais diversas indstrias.
No h unanimidade com relao aos limites dos conceitos de APLs, clusters
e distritos industriais, entre outros termos encontrados na literatura. Neste relatrio,
assumiu-se APLs e clusters como sinnimos. A definio de Porter (1998) para os
clusters a seguinte:
[...] concentraes geogrficas de companhias interconectadas e instituies de uma
rea particular. Abrangem uma srie de indstrias ligadas e outras entidades importantes
para a competio. Incluem, por exemplo, fornecedores de insumos especializados,
como componentes, mquinas e servios, e fornecedores de infraestrutura
especializada. Clusters freqentemente envolvem canais e consumidores, assim como
fabricantes de produtos complementares e empresas de setores relacionados pelas
habilidades, tecnologias ou insumos comuns. Finalmente, muitos clusters incluem
instituies governamentais e outras como universidades, centros de treinamento e
associaes de comrcio que provm treinamento, educao, informao, pesquisa
e suporte tcnico especializados. (PORTER, 1998, p. 78)
No contexto do agronegcio, os APLs so solues importantes para os pequenos
produtores, uma vez que as condies do ambiente de negcios podem representar
grandes oportunidades para superar as barreiras impostas pelas economias de escala
dos players de maior porte. Porm, no so apenas os pequenos que desfrutam das
vantagens dos APLs: grandes empresas encontram neles as condies ideais para o
desenvolvimento de sua competitividade, at em nvel internacional.
Alguns APLs bem sucedidos na mandiocultura so o Plo de Paranava (PR),
o APL Mandioca no Agreste (AL) e o Vale do Ivinhema (MS). Outras cidades que
sediam APLs so Cruzeiro do Sul (AC), Tef e Alvares (AM) e Dom Eliseu PA
(BRASIL, s.d.). Os mais constantes parceiros destes plos so o SEBRAE e o Banco
da Amaznia (BASA).
A descrio da experincia do APL Mandioca no Agreste ganhou, em 2005, um
prmio do Banco Mundial. So 14 municpios e mais de 20 mil produtores de mandioca
integrados neste sistema, cujo desenvolvimento conseguiu aumentar a produtividade
das plantaes em mais de 20%. Cabe ressaltar o indispensvel apoio governamental
para o sucesso deste tipo de empreitada. No caso citado, o Programa de Arranjos
Produtivos Locais de Alagoas (PAPL) foi importante para a viabilizao da iniciativa. O
sentido cooperativo do APL fica claro na descrio de Maria Ins Nogueira Pacheco,
uma das gestoras do projeto:
27
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Nesse processo, as instituies de apoio e cooperao tcnica e financeira,
articuladas com o PAPL, esto empreendendo esforos no sentido de dinamizar
esse seguimento produtivo, atravs do fortalecimento da rede de cooperao entre
produtores e instituies pblicas e privadas, estabelecendo aes, que alm do
incremento na produo e mercado; facilitem e ampliem o dialogo entre os produtores
e desses com as instituies; favorea o desenvolvimento da cooperao e a busca de
estratgias comuns para o beneficiamento e comercializao de produo e acelere
o desenvolvimento da aprendizagem coletiva, necessria para a difuso e gerao de
inovaes. (PACHECO, s.d)
O Vale do Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, concentra um tero da produo de
fcula do Estado. Cresceu como plo de produo da mandioca a partir de irradiaes
das culturas paranaenses fronteirias. Fazem parte do APL cerca de 3.300 pequenos
produtores e oito fecularias, alm de farinheiros, todos integrados em uma rede que
tambm comporta agentes financiadores e de capacitao (LE BOURLEGAT; VALLE,
2005).
Em Paranava (PR), a organizao de umAPL garantiu uma srie de melhoramentos
nas condies gerais de plantao e processamento da mandioca. Pertencem ao plo
2.500 produtores, 16 indstrias de fcula e 64 de farinha, estimando-se 1.500 empregos
diretos na indstria e 6.000 nas lavouras. Esse APL conta, ainda, com apoio do SENAI,
da prefeitura, de sindicatos e de outras entidades locais, que viabilizam investimentos
em tecnologia e pesquisa. O municpio sede do Centro Tecnolgico da Mandioca,
ligado ao SENAI, e que responsvel, entre outras funes, pela aproximao das
instituies educacionais ligadas cultura da mandioca. O resultado so pesquisas
que aprimoram as tcnicas utilizadas e aumentam o retorno financeiro dos agentes
envolvidos na cadeia agroindustrial da mandioca (SISTEMA FIEP, s.d).
5.2 Farinha e fcula de mandioca: usos e caractersticas
Variedades amargas (ou bravas) prestam-se melhor industrializao da
mandioca, pois geralmente apresentam concentrao de amido superior s variedades
de mesa (variedades mansas). Os elevados nveis de cido ciandrico no so
obstculos ao seu uso, uma vez que o processamento elimina quase por completo
as substncias potencialmente txicas. Os cultivares utilizados pelas indstrias
costumam exigir colheitas mais tardias, para que todo o seu potencial de rendimento
se desenvolva.
A ampla gama de cultivares disponveis aos produtores, somadas s diferenas
significativas de condies climticas nos diversos ecossistemas brasileiros, impem
um cuidado especial na escolha das plantas. Recomenda-se a consulta a instituies
locais, buscando-se as melhores opes para cada localidade. A ttulo de ilustrao, a
Tabela 13 lista algumas variedades recomendadas por especialistas para trs macroregies.
28
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Tabela 13 Cultivares de mandioca destinada indstria recomendados para trs macro-regies brasileiras
Regio
Centro Sul a
Cultivares
Branca de Santa Catarina, Roxinha (tambm conhecida como
Mico ou Chuamba), Fibra, IAC 12, IAC 13, IAC 14, IAC 15,
Fcula Branca, Espeto.
Tabuleiros Costeiros (Nordeste) b
Jussara, Valena, Caetit, Catulina, Bibiana
Semi-rido brasileiro c
Arari, Mani-Branca, Formosa
Fontes: a) EMBRAPA. Cultivo da mandioca na regio centro sul do Brasil. Disponvel em: http://www.embrapa.
gov.br>. Acesso em: 23 abr. 2007; b) EMBRAPA. Cultivo da mandioca na regio dos Tabuleiros Costeiros. Disponvel em: <http://www.embrapa.gov.br>. Acesso em: 23. abr. 2007; c) FUKUDA, Wania. Variedades de mandioca
para a produo de fcula. Disponvel em: <http://www.abam.com.br/mat_tecnicos>. Acesso em: 24 abr. 2007.
5.2.1 Farinha de mandioca
Aleluia! Aleluia! Peixe no prato e farinha na cuia! (CMARA CASCUDO, s.d.,
p. 386). O ditado popular revela a centralidade da farinha de mandioca, o po dos
brasileiros, na alimentao de nosso povo. o principal derivado da mandioca no
Brasil, dada simplicidade do seu processo produtivo (ainda semelhante aos mtodos
herdados dos ndios, em muitos casos) e ampla aceitao no mercado. De acordo
com Vilpoux (2003, p. 621), o Brasil o nico pas da Amrica Latina a consumir
este produto: o mercado asitico o desconhece e o mercado africano possui pouco
poder de compra e produo muito significativa para representar uma oportunidade
comercial aos brasileiros. Portanto, o mercado da farinha fica restrito ao consumo
nacional, mais freqentemente, local. Os produtores de Ivinhema, por exemplo, s
conseguem vender ao mercado nordestino quando h escassez do produto naquela
regio. No Maranho, a produo consumida nas prprias unidades de produo,
sendo vendido no mercado local apenas o excedente (SILVA, 2005).
A farinha pode pertencer a um entre trs grupos, dependendo da tecnologia
de fabricao utilizada: a farinha seca, a dgua e a mista. Cada grupo , por sua
vez, dividido em subgrupos - de acordo com a sua granulao , em classes em
funo da colorao e em tipos pelas variaes na qualidade do processamento
(FOLEGATTI; MATSUURA, 2007, p. 4.). A predominncia do tipo consumido varia de
acordo com as preferncias locais de cada regio do pas.
A farinha seca (ou de mesa) a mais consumida. Seu processo de produo
(Figura 3) passa pelos seguintes estgios:
29
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Figura 3 Etapas do processamento da farinha seca de mandioca
Recepo, lavagem e descascamento
Ralao
Prensagem
Esfarelamento
Torrao
Peneiragem
Acondicionamento e armazenamento
Fonte: Baseado em MATSUURA, Fernando C. A. U.; FOLEGATTI, Marlia I. S.; SARMENTO, Silene B. S.
Iniciando um pequeno grande negcio agroindustrial: processamento da mandioca. Braslia: Embrapa/Sebrae,
2003. (Srie Agronegcios).
Recepo, lavagem e descascamento da mandioca. importante que este
processo tenha incio to logo as razes sejam colhidas, uma vez que sua
deteriorao comea entre 24 e 48 horas aps serem arrancadas do solo.
Existem tanto processos manuais quanto mecnicos para o descascamento e
a lavagem. Pode-se, ainda, fazer uma repinicagem manual, que consiste na
retirada de cascas remanescentes nas razes aps o processo inicial. Embora
melhore a qualidade do produto, nem sempre este processo final feito pelas
casas de farinha.
Ralao. Com o auxlio de equipamentos especficos, a mandioca reduzida
em partculas uniformes e no muito finas.
Prensagem. Nesta etapa, retira-se 20 a 30% do volume da massa, por meio
da sua compresso em equipamento manual ou hidrulico. um processo
importante, pois evita a gomificao da massa. O lquido extrado, chamado
de manipueira, deve ser tratado, pois altamente txico.
Esfarelamento. Os blocos compactados, quando tirados das prensas, devem
ser novamente quebrados em partculas. O equipamento pode ser especfico
para este fim, mas podem ser utilizadas, como alternativa, as mquinas de
ralao das razes. Se peneirada, extrai-se a crueira (restos de casca e fibras),
freqentemente aproveitada para compor a rao animal.
Torrao. o processo-chave da produo da farinha. H vrios tipos de fornos
para este processo, os quais modificam o resultado final e a produtividade da
casa de farinha. Na torrao que se determina a cor, o sabor e o tempo de
conservao do produto. A umidade final da farinha deve ser inferior a 14%.
30
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Peneiragem. Aqui, a farinha j torrada separada de acordo com sua
granulao (mais grossa ou mais fina); as partculas excessivamente grandes
podem ser modas novamente.
Acondicionamento e armazenamento. Deixa-se a farinha esfriar antes
de embal-la em sacos de algodo de 50 kg (quando vendida a granel) ou
em sacos de polietileno de 500 g ou 1 kg (para venda em supermercados e
mercearias).
De acordo com as especificaes da Portaria n. 554, de 30 de gosto de 1995
(BRASIL, 2005), a mandioca de mesa deve ser classificada de acordo com uma destas
seis classificaes: extra-fina; fina beneficiada; fina; mdia; grossa; ou bijusada.
A farinha dgua (ou farinha de puba), de origem amaznica e mais consumida
do norte do Brasil at o Maranho, tem processo muito semelhante ao anteriormente
descrito, porm com uma etapa adicional de fermentao, logo no incio do processo.
Antes ou aps o descascamento, o produto passa pela pubagem ou fermentao, em
perodos que variam de seis dias a 24 horas. Quanto mais tempo durar esta etapa,
mais caracterstico o sabor do produto e mais mole fica a raiz, uma caracterstica til
quando no h a presena de raladores mecnicos (VILPOUX, 2003, p. 625).
Para este produto existem duas classificaes quanto granulometria: a farinha
fina (quando, no mximo, 30% dela fica retida na peneira nmero 10) e a farinha
grossa (quando mais de 30% fica retida na mesma peneira).
Deve-se destacar que, devido ao processo mais demorado, ao carter semi
artesanal da produo e s perdas ocasionadas no processo de fermentao, a
farinha dgua no consegue penetrar em outros locais (regies) alm daqueles que
tradicionalmente a consomem. Em contrapartida, a farinha seca ganha espao como
substituto, gerando uma perda de mercado gradativa para a farinha dgua.
Por fim, a farinha mista (tambm conhecida como farinha do Par) consiste na
mistura, em diferentes propores, dos dois tipos anteriores e tambm consumida de
maneira mais freqente nas regies Norte e Nordeste. A classificao em subgrupos
da farinha mista idntica da farinha dgua, inclusive nos critrios tcnicos utilizados
em sua anlise.
As trs classes da farinha, independente do grupo a que ela pertence, so: branca,
amarela e de outras cores. Vale ressaltar que esta colorao obtida de maneira
natural, seja devido cor original da raiz ou decorrente das tcnicas de fabricao
(especialmente durante o processo de torrao).
Os tipos so definidos para todos os grupos e classes, em escala de 1 a 3, com
exceo da farinha seca bijusada, que possui apenas um tipo. A classificao feita
pela anlise fsica do produto, a partir da porcentagem de cascas, cepas, raspas, p
e umidade, entre outros fatores. As farinhas de tipo 1 seguem especificaes mais
rigorosas, exigindo-se mais pureza. Em anexo, encontra-se o texto integral da Portaria
n. 554-95, em que todos os critrios de classificao da farinha de mandioca so
definidos e descritos.
31
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Cada uma das variaes de farinha de mandioca aqui descritas pode ter seu
espao de mercado. O importante para os produtores estudar sua rea de atuao,
buscando compreender as preferncias do consumidor local, de maneira a oferecer o
produto ideal a um preo que corresponda s expectativas desse consumidor. Cabe
lembrar que as diversas regies brasileiras apresentam hbitos de consumo bastante
diferentes, fator altamente determinante do sucesso dos empreendedores.
5.2.2 Fcula de mandioca
Conforme j mencionado, a fcula um dos produtos mais importantes feitos
a partir da mandioca, pois, alm das mltiplas aplicaes possveis, transcendem
os mercados locais e se prestam exportao. A Food and Agriculture Organization
(FAO), entidade associada Organizao das Naes Unidas (ONU), considera a
fcula uma excelente oportunidade para que os pases produtores de mandioca
geralmente naes em desenvolvimento adicionem valor a este produto de baixo
custo (FAO, 2006).
Na lngua portuguesa (junto apenas francesa), distingue-se o amido da fcula,
apesar de ambos possurem a mesma estrutura qumica (CEREDA, 2005). A diferena
est no fato da fcula ser obtida de matrias-primas subterrneas (ou seja, da parte
da planta que fica abaixo do solo), enquanto o amido tem uma definio mais geral
(pode ser obtido de partes da planta que ficam abaixo ou acima do solo neste ltimo
caso, como o amido de milho). Em muitos documentos, as palavras so utilizadas de
maneira intercambivel; neste relatrio, este padro tambm ser adotado.
Uma possvel definio de amido de mandioca, tambm conhecido como
sinnimo de fcula, polvilho doce e goma, :
Um carboidrato extrado da raiz da mandioca. Apresenta-se como um p branco,
inodoro, e sem sabor, utilizado como ingrediente gerador de uma srie de produtos, em
diversas reas de atividade industrial (...). Segundo Ferreira, fcula uma substncia
farincea de tubrculos e razes. (ARIENTE, 2005, p. 54)
As aplicaes da fcula so inmeras, tanto na indstria alimentcia quanto em
outras. largamente utilizada como espessante, ou seja, substncia adicionada a
misturas a fim de lhes proporcionar melhor consistncia. A fcula ingrediente de
molhos, sopas, comidas para bebs, pudins, sorvetes, embutidos, pes de queijo e
massas em geral. A rejeio ao produto baixa, uma vez que no deixa gosto residual,
no contm glten (substncia qual parte das pessoas alrgica) e mais barato
que outros ingredientes semelhantes, como o amido de milho. Tambm pode servir
como base para a tapioca, o beiju, o sagu e biscoitos diversos. Transformada em cera,
a fcula pode revestir frutas e legumes como mangas, pssegos, mas e pepinos,
de forma a aumentar a durabilidade e torn-los mais brilhantes e vistosos (REIS,
2006, p. 487-93). O amido pode, ainda, ser base de bebidas alcolicas a empresa
32
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
MN Prpolis lanou em fevereiro de 2006 um shochu (destilado tipicamente japons)
fabricado a partir de mandioca orgnica (MANDIOCA..., 2006).
O lcool feito a partir do amido tem aplicaes fora da indstria alimentcia. Suas
caractersticas inodoras e inspidas o tornam adequado composio de perfumes. A
indstria de papel vem utilizando fortemente o amido de mandioca na sua produo,
com significativas redues de preo. Estima-se que 90% dos papis de impresso
no pas tenham fcula de mandioca na sua composio, substituindo com vantagens
de qualidade e preo o amido de milho (BATISTA, 2003).
A adio de fcula ou farinha de mandioca na farinha de trigo para a fabricao
de pes foi tema de muita discusso no setor panificador em 2001, diante do projeto
de lei proposto pelo deputado Aldo Rebelo O texto original previa a obrigatoriedade da
mistura de fcula ou farinha de mandioca na farinha de trigo, com adio mnima de
10% e at casos excepcionais em que a proporo passaria a 20%.
A presso dos fortes grupos associados produo e ao processamento de
trigo (que se indispuseram contra a imposio) junto a setores da sociedade provocou
mudanas no projeto, que passou a prever a mistura apenas na farinha comprada
pelo poder pblico, ou seja, aquela usada para alimentao em creches ,hospitais e
escolas pblicas, presdios e Exrcito. Com esta configurao, passou nas votaes
da Cmara e no momento (jul. 2007) aguarda anlise do Senado Federal (FARINHA...,
2006).
As etapas do processo produtivo-padro do amido de mandioca (Figura 4) so
as seguintes:
Figura 4 Etapas do processamento da fcula de mandioca
Recepo, lavagem e descascamento
Ralao
Extrao da fcula
Secagem
Moagem
Acondicionamento e armazenamento
Fonte: baseado em MATSUURA; FOLEGATTI; SARMENTO, 2003, p. 33-7.
33
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Recepo, lavagem e descascamento. semelhante ao processo da
produo da farinha. A entrecasca, retirada para aquele produto, deve ser
conservada aqui, pois contm fcula e representa de 8 a 15% da raiz.
Ralao. Deve ser bastante fina para maximizar o rendimento da matria
prima. feita com adio de gua no ralador e com velocidades altas das
serras.
Extrao da fcula. Em tanques equipados de agitadores e peneiras, separase a gua misturada fcula do material fibroso, chamado de bagacilho. Este
pode ser aproveitado em raes para animais, enquanto o leite de fcula
segue adiante no processo. A separao da gua e da fcula se d por um de
dois processos: a decantao (tpica da produo em pequenas escalas) e a
rotao centrfuga. No final desta etapa, chega-se a um produto com umidade
reduzida a cerca de 45%.
Secagem. Pode ser feita ao sol ou em secadores. O processo artificial garante
maior pureza do produto, pois evita a contaminao por partculas carregadas
pelo ar.
Moagem. Dependendo do processo adotado na secagem, torna-se necessrio
reduzir as partculas a p, por meio de compresso e peneiragem.
Acondicionamento e armazenamento. A fcula j finalizada pode ser
embalada em plstico (para consumo final) ou papel (comum na venda
industrial). O local de armazenamento deve ser seco e bem ventilado, para
que no haja modificao das caractersticas do produto.
Continuam a ser realizadas diversas pesquisas, no que tange ao desenvolvimento
de novas aplicaes para a fcula de mandioca. Um exemplo a investigao
desenvolvida em 2006/2007 pela Escola Politcnica da Universidade de So Paulo,
na qual tem sido trabalhado um filme plstico base de amido de mandioca. O produto
poder ser utilizado na embalagem de alimentos, com caractersticas superiores aos
atuais plsticos/filmes de PVC, pois biodegradvel e comestvel. Alm disso, possui
propriedades antimicrobianas e muda de cor caso haja a deteriorao dos alimentos
nele embalados, tornando ntida a perda de qualidade do produto e sua inadequao
ao consumo (AGNCIA FAPESP, 2007).
5.2.3 Modificao do amido
O amido processado conforme a descrio acima conhecido como nativo ou
natural. No entanto, grande parte das aplicaes do amido, em especial nas indstrias
no-alimentcias, requer alteraes nas caractersticas do produto, de forma a adequlo s necessidades da indstria. O resultado so os chamados amidos modificados. A
34
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
indstria de papel e papelo a que mais faz uso deste tipo de amido, sendo apenas
10% destinado s empresas de industrializao de alimentos; o contrrio acontece
com o amido nativo, cuja aplicao no setor alimentcio representa 70% do total
produzido (RIQUEZAS..., 2004).
Tradicionalmente, as modificaes feitas nas caractersticas do amido so de
ordem qumica. Porm, a busca cada vez mais intensa de produtos saudveis por
parte dos consumidores tem motivado a pesquisa industrial busca de processos
de modificaes fsicas, que no prejudicam o conceito de natural dos produtos
(CEREDA, 2005).
A Tabela 14 lista algumas possibilidades de aplicao a partir da modificao de
amidos, subdivididas por setor produtivo.
Tabela 14 Exemplos de aplicaes de amidos de mandioca modificados
Setor
Indstria alimentcia
Indstria de papel
Propriedades
Espessantes
Controladores de umidade
Texturizantes
Agentes de viscosidade
Encapsulante de aromas e leos
essenciais.
Recobrimento Superficial
Reforamento Mecnico
Reteno de finos e cargas
Melhor formao da folha
Aumento na fora na colagem
entre Camadas
Aumento na resistncia mecnica
do papel.
Aumento no corpo bulk
Aumento na absoro
Melhorias nas caractersticas,
lisura e maciez
Em mquinas de papel para a
produo de papis alcalinos,
cidos e neutros
Pelcula para recobrir papel
Engomagem de tecidos e fios
Tratamento
Acabamentos
Aditivo para pigmentos
Espessante de pigmentos
Tinturaria
Produo de compounds
Engomagem de fios de algodo
e mesclas
Preparao de pigmentos
Acabamento de tecido
Produo de compounds
Indstria txtil
Aplicaes
Drageamento
Gelia de brilho
Po de Queijo
Cremes e molhos instantneos
Molhos atomatados
Catchup e condimentos em
geral
Embutidos (frigorficos)
Cremes, recheios e coberturas
para confeitaria
Iogurtes
Fonte: Recorvendas. Disponvel em: <http://www.recorvendas.com.br/produtos>. Acesso em: 30 abr. 2007.
35
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
5.3 Dados de produo e consumo de farinha e fcula de mandioca
5.3.1 Produo de farinha de mandioca
Devido ao acentuado consumo de farinha no Nordeste, a regio acaba por
concentrar uma parcela significativa da produo deste derivado. So centenas de
casas de farinha, a maioria de pequeno porte (ou seja, que produzem menos de
15 sacas por dia) e que exercem importante papel no abastecimento local. O Par
destaca-se nesta produo (GROXKO, 2007), aproveitando a abundante oferta de
matria-prima, uma vez que o Estado lder no cultivo da raiz.
H ocasies, porm, que o elevado nvel de consumo da populao nordestina
no consegue ser totalmente suprido pela oferta de farinha localmente produzida;
isso pode ocorrer em funo de condies climticas desfavorveis. Neste caso, o
espao em aberto neste mercado suprido pela comercializao de produtos de
outros estados, como Mato Grosso do Sul e Paran.
Nos estados do Centro Sul, o Paran tem o maior volume de transformao
da mandioca em farinha. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab)
indicam a destinao de 1,8 milhes de toneladas da raiz atividade. O segundo
estado produtor So Paulo, com 680 mil toneladas, seguido por Santa Catarina, com
530 mil toneladas.
5.3.2 Distribuio do consumo de farinha no Brasil
H grande disparidade no consumo per capita de farinha de mandioca entre
as regies e os estados. O levantamento da Pesquisa de Oramento Familiar (POF)
realizada pelo IBGE confirma a primazia do Norte e Nordeste no consumo deste
produto (Tabela 15). A mdia brasileira de 7,8 quilos anuais per capita, mdia essa
inflada pelos 33,8 quilos per capita da regio Norte. O Nordeste consome 15,3 quilos
anuais per capita, enquanto as demais regies apresentam consumo inferior a 1,5 kg/
capita/ano. O estado que se destaca neste ndice o Amazonas, com 43,4 kg/capita/
ano, em contraste com os 0,7 kg/capita/ano do Paran, apesar de sua considervel
produo.
Tabela 15 Consumo per capita anual de farinha de mandioca por regio (em quilos)
Regio
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
Mdia Brasil
Kg/capita/ano
33,8
15,3
1,4
1,0
1,4
7,8
Fonte: IBGE. Pesquisa de oramento familiar (POF). Disponvel em: <http://www.sidra.ibge.gov.br>. Acesso em:
30 jul. 2007.
36
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Ainda de acordo com os dados consolidados na POF, fica caracterizado o maior
consumo da farinha de mandioca por parte das famlias com renda mais baixa (Grfico
3); o preo baixo e a manuteno de tradies culinrias so os principais fatores que
explicam esse consumo.
Grfico 3 Consumo anual per capita de farinha de mandioca, por rendimento familiar mensal (Brasil, 2003
em quilos)
16
14
14,2
13,7
12
10
8,5
8
5,6
3,7
2,2
2
0
At 400
Mais de 400 a
600
Mais de 600 a Mais de 1000 a Mais de 1600 a
1000
1600
3000
Mais de 3000
Fonte: IBGE, s.d.
Outro dado interessante com relao ao consumo de farinha de mandioca est
nas diferenas entre o consumo da populao residente em reas urbanas ou rurais.
Seguindo a lgica, as reas rurais despontam como as principais consumidoras do
produto (20,6 kg/capita/ano), contra 5,1 kg/capita/ano da populao urbana. Mais uma
vez, os maiores ndices aparecem nas reas rurais da regio Norte, onde chegam a
64,5 kg/capita/ano.
5.3.3 Produo de fcula de mandioca
Conforme j mencionado, a maior complexidade do processo produtivo da fcula
de mandioca acabou por concentrar a produo brasileira nos estados do Centro
Sul, dado o maior nvel de investimento necessrio, tanto em capacidade produtiva
e quanto em tecnologia. A ABAM estimava uma produo de 574.746 toneladas de
amido em 2006, volume inferior aos picos de 2001 e 2002, mas que demonstra uma
retomada aps as baixas das safras de 2003 e 2004 (Grfico 4).
37
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Grfico 4 Produo brasileira de amido de mandioca (em mil toneladas 2005)
800
700
667
600
575
545,5
574,7
500
400
300
368
300
428,1
400
395,4
328
200
100
0
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Fonte: CEPEA/ABAM. Disponvel em: <http://www.abam.com.br>. Acesso em: 15 jul. 2007.
Apesar do aumento do volume produzido, o valor desta produo foi menor do
que em 2004, devido baixa dos preos pagos pelas indstrias. Os baixos preos
do amido de milho foram um dos fatores que provocou este cenrio. De R$726 por
tonelada o preo caiu para R$ 645/t pela fcula produzida em 2006, uma vez que
seu substituto direto (amido de milho) teve os preos muito reduzidos. O valor das
operaes, portanto, pode ser estimado em R$ 370,9 milhes, aproximadamente 7%
inferior ao ano anterior.
O Paran lder na produo de fcula de mandioca (Tabela 16). O cultivo
extensivo, somado aos esforos integrados entre produtores e fecularias,
proporcionaram condies favorveis para a atividade. Em 2002, trs novas fecularias
foram instaladas no estado, representando um investimento de US$ 25 milhes
financiados em parceria por grupos brasileiros e italianos. Toda a produo destas
unidades destinada exportao (PARAN..., s.d.).
38
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Tabela 16 Produo de amido de mandioca por estado (2006)
Estado
Volume (em toneladas)
Participao (%)
Paran
372.990
65
Mato Grosso do Sul
103.989
18
So Paulo
72.327
13
Santa Catarina
23.438
Gois
1.000
Menos que 1
Fonte: ABAM. Disponvel em: <http://www.abam.com.br>. Acesso em: 15 jul. 2007.
A fcula nativa ainda predominante no volume de produo: em 2006, foi
responsvel por 61% do total. O amido modificado representa 35%, o polvilho azedo,
3% e o polvilho doce, 2% (CEPEA/ESALQ-USP, s.d.).
5.3.4 Indstrias e estados compradores de fcula de mandioca
Em 2006 o setor de papel e papelo passou a ocupar a primeira colocao
entre as indstrias compradoras de amido de mandioca no Brasil(Grfico 5), posio
pertencente, em 2005, ao setor de massas, biscoitos e panificao. As aplicaes da
fcula neste tipo de produo destacam-se cada vez mais, dadas as melhorias de
qualidade. O fator que mais influencia na oscilao do consumo o preo muito voltil
do produto.
Outro setor relevante so os frigorficos, que utilizam a fcula como agente
de viscosidade na produo de embutidos. Sua participao de 19,5% relevante,
estando frente de setores que so compradores tradicionais, como o atacado e o
setor de panificao.
39
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Grfico 5 Consumo de amido de mandioca por segmento da indstria (2006)
Papel e papelo;
26,3%
Outros; 22,9%
Massa, biscoito e
panificao; 14,5%
Frigorficos; 19,5%
Atacadistas; 16,8%
Fonte: ABAM. Disponvel em: www.abam.com.br. Acesso em: 12 jul. 2007.
Em termos de distribuio por estado, So Paulo se destaca como o maior
consumidor, fundamentalmente por conta da sua economia industrializada e proeminente
no cenrio nacional. O Paran, maior estado produtor, tambm apresenta ndices
significativos de consumo da fcula. Minas Gerais consumiu em 2006 o equivalente
a 11,3% do total no pas. Em seguida, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Cear, Distrito
Federal, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, todos com participaes entre 5%
e 9% (Grfico 6).
Grfico 6 Participao dos Estados no consumo de fcula de mandioca (2006)
Mato Grosso do Sul;
4,4%
Outros; 6,5%
Rio Grande do Sul;
4,4%
So Paulo; 24,4%
Distrito Federal; 4,4%
Cear; 5,8%
Rio de Janeiro; 6,4%
Santa Catarina; 8,8%
Paran; 23,6%
Minas Gerais; 11,3%
Fonte: CEPEA/ESALQ-USP. Valor de produo da fcula cai 7% em 2006, com produo 5,1% maior. Disponvel em: <http://www.cepea.esalq.usp.br. Acesso em: 12 jul. 2007.
40
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
5.4 Preos da farinha e da fcula de mandioca
importante lembrar que o comportamento de preos da mandioca determinado
pela sua natureza de commodity: produtos indiferenciados, produzidos por grande
nmero de agentes e cujos preos so conhecidos (hoje, em mbito global) pelos
compradores, em um regime prximo ao que os economistas chamam de concorrncia
perfeita. Nestas condies, a influncia individual que cada produtor tem sobre seus
preos muito limitada.
Alm disso, dada sua natureza agrcola, a precificao da mandioca segue padres
sazonais, ou seja, o preo final depende dos calendrios de cultivo e das condies
naturais, como clima, tipo de solo, variedades plantadas etc. As oscilaes de preo
nos mercados derivados (neste caso, farinha e fcula de mandioca) acompanham o
padro de sua matria-prima. Esse movimento se d fundamentalmente pela mudana
nas condies de oferta, uma vez que a demanda tende a ser mais estvel (EMBRAPA
MANDIOCA E FRUTICULTURA TROPICAL, s.d.).
As oscilaes nos preos da mandioca tm sido maiores que a de outros insumos
agrcolas, como o trigo e o milho dois produtos cujos derivados concorrem com
os derivados da mandioca (com mais intensidade com fcula/amido de mandioca).
Este um fator que dificulta a atividade de mandiocultura, uma vez que as indstrias
buscam tanto preos competitivos quanto estabilidade no fornecimento e no patamar
de precificao.
De acordo com levantamentos do CEPEA, as mdias para os anos de 2005,
2006 e 2007 (at a primeira semana de julho/2007) para os preos da farinha grossa
e fina foram as seguintes (Tabela 17):
Tabela 17 Preo mdio da farinha de mandioca (grossa e fina) R$ por tonelada
Perodo
2005
2006
2007 (at jul.)
Farinha grossa
Farinha fina
494,58
625,62
660,99
461,20
505,79
645,69
Fonte: CEPEA/ESALQ-USP. Levantamento semanal de preos (produtor). Disponvel em: <http://www.cepea.
esalq.usp.br. Acesso em: 11 jul. 2007.
Nota-se uma gradual recuperao dos preos da farinha ao longo dos ltimos
trs anos. Este movimento tem apresentado reflexos para o consumidor final, que lida
com um aumento de preos maior do que a inflao observada no perodo.
A srie de dados sobre preos da fcula de mandioca compilada pelo CEPEA
extensa, compreendendo o perodo de 2002 at 2007. Fica clara a instabilidade dos
preos deste insumo, que atingiu picos elevados entre 2003 e 2005, aps chegar a
valores muito baixos em 2002 (Tabela 18).
41
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Tabela 18 Preo mdio da fcula de mandioca R$ por tonelada
Ano
2002
2003
2004
2005
2006
2007 (at jul.)
Preo mdio
441,16
1144,31
1443,23
726,41
645,29
837,05
Variao
159%
26%
-50%
-11%
30%
Fonte: CEPEA/ESALQ-USP, s.d.
Economistas e estudiosos do setor tm frisado a necessidade de profissionalizao
e de um esforo maior de planejamento ao longo da cadeia produtiva da mandioca.
Uma das formas para alcanar estas metas se d pela integrao dos agentes
constitutivos da cadeia. Contratos de longo prazo entre produtores de mandioca,
fabricantes da fcula e usurios industriais do produto podero prevenir os efeitos
danosos de variaes altas e muito freqentes. Os resultados podem ser benficos
para todas as partes, seja pela garantia de rentabilidade mnima para as atividades
produtivas, seja pela segurana quanto continuidade do fornecimento da matria
prima (FELIPE; ALVES; CAMPION, 2007).
Outro importante instrumento para a melhoria das condies de produo de
mandioca, farinha e fcula o rigoroso controle de custos envolvidos na atividade
produtiva. Pelo fato de serem tomadores de preo (termo atribudo aos participantes
de um mercado cujo regime a concorrncia perfeita, onde os players individuais tm
pouca ou nenhuma possibilidade de determinao dos preos e se vem obrigados
a aceitar e seguir os valores propostos pelo mercado), a maneira mais eficiente
para aumentar as margens da atividade econmica por meio do monitoramento
dos custos e, se possvel, por sua reduo (ALVES; FELIPE, BARROS, s.d.). Outra
alternativa, mais restrita quando se lida com mercados pouco desenvolvidos, a
criao de produtos diferenciados, que carreguem valor agregado oferta bsica.
Alguns exemplos so mandiocas minimamente processadas (congeladas, pr-cozidas,
descascadas, lavadas etc.) ou farinhas temperadas (GAMEIRO, 2007, p. 2). Como
exemplo, pesquisou-se o preo de produtos disponibilizados ao consumidor final pelo
site do supermercado Po de Acar. O pacote de farinha torrada da Yoki, que pesa
500 gramas, custa R$1,61; j a farofa pronta da marca Deusa, pesando os mesmos
500 gramas, chega a R$ 3,284.
www.paodeaucar.com.br. Acesso em: 29 jan. 2008.
42
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
5.5 Concorrncia
H dois tipos fundamentais de concorrncia a se considerar no estudo setorial
da mandioca no Brasil: a competio interna existente entre os produtores de farinha
e fcula; e aquela que se d entre a categoria (especialmente a da fcula) e outros
produtos que, eventualmente, podem substitu-la em um processo produtivo.
5.5.1 Competio entre produtores de farinha e fcula
Os investimentos bsicos para produo de farinha de mandioca so baixos.
A tecnologia mais sofisticada aumenta o rendimento da produo, mas no
imprescindvel, uma vez que grande parte das pequenas casas de farinha espalhadas
pelo pas ainda se utilizam de procedimentos quase artesanais. Esta facilidade para se
comear um negcio caracteriza o setor como sendo altamente vulnervel ameaa
de novos entrantes (ver anlise das foras competitivas, mais frente). A demanda,
em contrapartida, no evolui com a mesma rapidez, colocando os produtores diante
de um cenrio de elevada competio e margens baixas.
A produo de fcula mais concentrada, apesar de ainda comportar produtores
de pequeno porte que usam tecnologias rudimentares. Dado este fato, de se esperar
uma concorrncia fundamentalmente voltada a preos baixos, com baixo nvel de
diferenciao e margens igualmente reduzidas.
A diferenciao de seus produtos a alternativa que algumas empresas tm
utilizado para tentar melhorar suas condies individuais de competitividade. No
mercado de fcula, em particular, os amidos modificados representam oportunidades
interessantes de crescimento, j que possuem caractersticas exclusivas. Conforme
apontado anteriormente, os estados do Sul e Sudeste do Brasil so os que concentram
o maior nmero de fecularias que atuam na produo de amidos modificados.
A importao de fcula tambm deve ser estudada como uma fora competitiva.
Em perodos em que h altas significativas nos preos do produto nacional, as
indstrias consumidoras da fcula podem voltar-se ao mercado exterior para suprir
suas necessidades a custos mais baixos. Foi o que aconteceu em 2003 e 2004, diante
da grande elevao de preos ocasionada pela baixa dos estoques das fecularias.
5.5.2 Competio com produtos substitutos
A versatilidade da fcula de mandioca para aplicaes industriais abre, por um
lado, um amplo mercado para o produto, que pode ser utilizado em setores to diversos
como o alimentcio, o txtil e o de papel, entre outros. Por outro lado, essa mesma
versatilidade indicativa da concorrncia abrangente que a fcula de mandioca tem
que enfrentar, na medida em que pode ser substituda por diferentes matrias-primas
utilizadas para as mesmas funes. Os substitutos mais fortes at este momento so
o amido de milho e a fcula de batata.
43
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
A existncia de alternativas ao uso do amido de mandioca torna sua oferta
mais elstica, ou seja, pequenas variaes nos preos do amido de mandioca
podem representar grandes variaes nas quantidades vendidas do produto. Assim,
caso o preo aumente, seus potenciais compradores abandonam ao menos,
temporariamente, o consumo do produto e passam a usar o produto substituto (no
caso, amido de milho ou fcula de batata) que oferecer o melhor preo.
O mais forte concorrente substituto da fcula de mandioca o amido de milho.
No mercado externo, particularmente no norte-americano, percebe-se claramente este
conflito, uma vez que a entrada da fcula de mandioca dificultada pelas barreiras
comerciais, quais sejam, medidas protecionistas impostas pelo governo dos EUA para
favorecer as indstrias locais, que trabalham com base na grande produo de milho
do pas.
Um das vantagens competitivas estruturais desfrutadas pela indstria do amido
de milho em relao da fcula de mandioca sua organizao produtiva. H forte
concentrao nos agentes produtores de amido de milho, com o domnio, no cenrio
brasileiro, de trs grandes empresas multinacionais: Corn Products do Brasil, National
Starch Chemical e Cargill.
A indstria de fcula de mandioca tambm possui grandes players que, no entanto,
concentram parcelas bem menores do mercado (em relao indstria do amido de
milho), dividindo-o com inmeras fecularias de pequeno e mdio porte. O resultado
uma facilidade maior de articulao do oligoplio do amido de milho, em contraposio
fragmentao do mercado concorrencial da fcula de mandioca (CARDOSO, 2003,
p. 98). Um dos efeitos da desestruturao desta indstria a volatilidade dos preos.
Outras dificuldades competitivas enfrentadas pela cadeia da mandioca dizem
respeito baixa produtividade da matria-prima, ao baixo valor dos resduos e ao
alto custo dos processos de tratamento. Alm disso, os parcos investimentos em
pesquisa e desenvolvimento tornam as inovaes lentas e pouco exploradas pelo
setor produtivo.
Por outro lado, a fcula de mandioca apresenta caractersticas superiores a de
seus principais concorrentes e substitutos em diversos processos e aplicaes. Sua
extrao mais fcil, o produto final apresenta maior transparncia e oferece alta
viscosidade. O amido da raiz inodoro e inspido, o que o torna excelente matriaprima para a produo de lcool para fins laboratoriais, farmacolgicos ou alimentcios
bebidas (ARIENTE et al., 2005, p. 56).
A Tabela 19 compara a competitividade dos amidos de algumas matrias-primas,
analisada por indicadores qualitativos.
44
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Tabela 19 Indicadores qualitativos de competitividade de amidos, segundo fonte de matria-prima
Indicadores
Fonte de matria-prima
Batata
Milho waxy
Milho
Trigo
***
***
***
***
**
**
***
Competitividade do preo da matriaprima
***
**
***
**
Flexibilidade na obteno da matriaprima
***
***
**
***
Taxa de converso
(eficincia)
amido
***
**
***
**
Facilidade tcnica da extrao do
amido
**
**
***
**
***
Valor dos subprodutos
**
***
**
Custo de tratamento dos resduos
**
***
Competitividade do preo do amido
***
**
**
**
Potencial de aplicao na indstria
alimentar
**
**
***
***
***
Potencial de aplicao na indstria
no-alimentar
***
***
**
**
**
Aplicao
acares
de
***
**
***
**
intervenes
***
***
***
***
Avanos em P&D
***
***
***
***
Oportunidades tecnolgicas
***
***
***
***
Apropriao privada dos avanos do
setor agrcola
***
***
**
***
Grau de cumulatividade
***
***
**
***
Nvel de organizao da cadeia
agroindustrial.
***
***
***
***
Produtividade da matria-prima
Potencial
para
produtividade
como
aumentar
do
substituto
Apropriao
das
polticas (UE, EUA)
Mandioca
Legenda: (***) alto; (**) intermedirio; (*) baixo; (-) nenhuma.
Fonte: CARDOSO, Carlos Estevo Leite. Competitividade e inovao tecnolgica na cadeia agroindustrial de
fcula de mandioca no Brasil. 2003. Tese (doutorado) Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de So Paulo. Piracicaba, 2003, p. 103.
45
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Outra forma para analisar a concorrncia enfrentada pela cadeia da mandioca
examinando o avano de outras culturas em regies onde a raiz , tradicionalmente,
predominante. Em um estudo promovido pelo CEPEA (ALVES; FELIPE, 2006, p. B-4),
comprovou-se a presso que o cultivo da cana-de-acar tem exercido em diversas
reas dos estados de So Paulo, Paran e Mato Grosso do Sul. A valorizao dos
produtos dos derivados da cana (acar e lcool) tem motivado os proprietrios rurais
a empenhar-se na sua plantao. Para obter capital para investir nessa nova cultura,
muitos desses proprietrios se desfazem das suas plantaes de mandioca a preos
inferiores aos custos, o que pressiona o preo da raiz ainda mais para baixo.
Neste caso, configura-se uma ameaa de um produto substituto no em termos
de usos semelhantes pelo mercado, mas como substituto que, potencialmente,
aumentar o retorno dos investimentos feitos pelos ex-produtores de mandioca.
5.6 Aspectos legais
Por se tratarem de produtos destinados em grande parte alimentao, os
derivados de mandioca so submetidos a uma srie de normas de ordem sanitria. A
Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (ANVISA), rgo integrado ao Ministrio da
Sade, disponibiliza em seu site (http://www.anvisa.gov.br/legis) um banco de dados
com os textos completos de normas concernentes ao tema. Outra compilao de leis
de interesse ao setor estudado a do Ministrio da Agricultura, intitulado Sislegis
(http://extranet.agricultura.gov.br/sislegis-consulta/).
Especificamente no que diz respeito produo e comercializao de farinha e
fcula de mandioca, h algumas normas que devem ser cuidadosamente analisadas
e seguidas pelos empresrios, de forma a se adequar a todas as exigncias legais
que a atividade impe. Dentre elas, vale destacar:
Portaria n 80, de 20 de abril de 1988 (aprova as Normas destinadas
comercializao interna da Raspa de Mandioca). Esta norma classifica a
raspa de mandioca segundo sua qualidade e caractersticas. importante no
processo de comercializao do produto, tanto para o varejo quanto para o
atacado.
Portaria n 554, de 30 de agosto de 1995 (aprova a Norma de Identidade,
Qualidade, Acondicionamento, Armazenamento e Transporte da Farinha de
Mandioca, para fins de comercializao, estabelecendo novas especificaes
para a Padronizao e Classificao da Farinha de Mandioca). Esta norma
fundamental para os empreendedores dedicados produo da farinha de
mandioca, uma vez que estabelece a classificao das variedades de farinha,
de acordo com critrios como granulao, colorao, qualidade e tecnologia
empregada.
Resoluo RDC n 359, de 23 de dezembro de 2003 (Aprova Regulamento
Tcnico de Pores de Alimentos Embalados para Fins de Rotulagem
Nutricional). Visando aperfeioar as informaes que chegam aos consumidores
de produtos alimentcios industrializados e adequ-los aos instrumentos
harmonizados do Mercosul, a resoluo padroniza os mtodos de definio
46
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
das pores cuja apresentao nutricional deve constar nas embalagens.
Tanto a fcula quanto a farinha de mandioca esto regulamentadas nesta
norma.
Resoluo RDC n 263, de 22 de setembro de 2005 (aprova o Regulamento
Tcnico para Produtos de Cereais, Amidos, Farinhas e Farelos). Alm de
fixar as taxas de umidade mxima para farinha (15%) e fcula de mandioca
(18%), recomenda a adoo de boas prticas de fabricao e rotulagem dos
alimentos.
Finalmente, outro aspecto importante a se considerar na cadeia produtiva da
mandioca a legislao ambiental, dado o potencial poluidor dos resduos lquidos
obtidos na prensagem da raiz (FEIDEN, 2005). A manipueira (resduo lquido gerado
durante o processo de produo da fcula) deve ser cuidadosamente tratada, em vez
de despejada em rios ou no solo. necessrio destacar que os tratamentos mais
eficazes para esses resduos exigem tecnologias mais complexas e, portanto, maiores
investimentos por parte do produtor.
5.7 Distribuio canais de comercializao
Os canais de marketing, conforme definidos por Philip Kotler e Kevin Lane Keller
(KOTLER; KELLER, 2006, p. 464), so conjuntos de organizaes interdependentes
envolvidas no processo de disponibilizar um produto ou servio para uso ou consumo.
Entre as plantaes de mandioca e o consumidor final atuam uma srie de agentes
que, por meio da transformao, embalagem, armazenamento ou simples transporte
do produto, adicionam valor a ele a cada etapa da rede de entrega de valor. A Figura
5 ilustra as principais configuraes dos canais observados na cadeia da farinha e
fcula da mandioca:
Figura 5 Configuraes comuns dos canais de distribuio de farinha e fcula de mandioca
Farinha
Fcula
Produtor
Processador /
Distribuidor
Industria usuaria
Produtor / processador / Distribuidor
Atacado
Pequeno varejo
Feiras Livres
Consumidor final
Fonte: Elaborado pelo autor.
47
Supermercados
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Na cadeia da mandioca, em especial nas pequenas casas de farinha, os
produtores freqentemente plantam a prpria mandioca para, posteriormente, utilizla como matria-prima. Outros processadores, contudo, no esto envolvidos na
mandiocultura, comprando o produto de diversos plantadores. importante destacar
a importncia da proximidade entre as unidades de produo e as plantaes, uma
vez que o processamento deve ter incio, no mximo, 24 horas aps a colheita, para
evitar a proliferao de microorganismos.
A instabilidade dos preos e da oferta de mandioca se configura como uma
dificuldade relevante para as farinheiras e fecularias, quando no h verticalizao
da cadeia (qual seja, a integrao das atividades de plantao e processamento
pelo mesmo agente). Para garantir sua produo, muitas empresas tm optado por
negociar contratos de longo prazo com os mandiocultores, estabelecendo quantidades
e preos mnimos para o produto. Esta uma poltica importante, que tende a ser
adotada crescentemente, na medida em que o setor se profissionaliza e comea a
visar o comrcio exterior.
Uma vez processadas, farinha e fcula devem ser levadas at seus pontos de
consumo, seja por indstrias ou por consumidores finais. Algumas vezes a produo e
a primeira etapa da distribuio so realizadas pelo mesmo agente da cadeia produtiva
(EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA TROPICAL, 2007). Por exemplo, no caso
da farinha, o produto pode ser vendido em feiras livres, supermercados ou varejos
de bairro. A fcula, com mais freqncia, segue diretamente para as indstrias que a
utilizam como insumo, principalmente no caso dos amidos modificados que exigem
conhecimento especializado e vendas tcnicas.
Conhecer o prximo elo da cadeia produtiva, ou seja, aquele que adquirir
seu produto essencial, uma vez que todo o processo de embalagem, transporte
e comercializao dever ser adequado ao tipo de mercado a que o produto se
destina.
O atacado outro agente que participa com freqncia na distribuio dos
derivados da mandioca. Algumas variaes da fcula, como o polvilho azedo, a
tapioca e o sagu, podem seguir por este caminho, mas a importncia dos atacadistas
maior para os produtores de farinha que, muitas vezes, vendem seu produto a granel,
sem colocar qualquer marca. Em outras ocasies, o prprio fabricante desempenha
o papel do atacadista, chegando diretamente aos pontos de venda no varejo. No
caso de pequenos mercados e feiras livres, h presena intensa de casas de farinha
atuando na informalidade, com produtos sem marca e de baixa qualidade, dificultando
o acesso de empresas formalizadas a estes pontos de venda porque seus preos,
quase obrigatoriamente, sero mais altos que os dos produtores informais (BARROS,
2004, p. 132).
Os supermercados precisam ser tratados parte nas anlises de varejo.
A crescente concentrao das redes varejistas em grandes grupos (muitas vezes,
multinacionais) tem imposto mudanas significativas na distribuio dos produtos
alimentcios no Brasil. Como parte das estratgias empreendidas pelos super e
hipermercados visando reduzir a complexidade dos canais com os quais tm que
lidar diariamente, estes mega-varejistas procuram cortar o nmero de intermedirios,
48
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
estabelecendo contratos diretamente com os processadores de farinha e mandioca.
Com isso, reduzem os custos e aproveitam a escala oferecida pelo alto giro de suas
mercadorias.
Por fim, vale mencionar as compras governamentais, realizadas fundamentalmente
pela Companhia Nacional de Abastecimento CONAB (BARROS, 2004, p. 132). O
fato da mandioca e seus derivados constiturem elementos bsicos da alimentao
do brasileiro abre uma oportunidade de mercado para mandiocultores, farinheiras
e fecularias. O governo, por meio do Ministrio da Agricultura, fixa preos mnimos
que podem ser bastante interessantes ao produtor, dependendo das oscilaes dos
valores vigentes no mercado.
5.8 Comunicao
A relativa homogeneidade dos produtos oriundos de fecularias e farinheiras
dificultam a utilizao das ferramentas habituais de comunicao. Somente a partir da
explorao de caractersticas que destaquem um produtor dos demais ser possvel
usar a comunicao de maneira mais sofisticada. Alguns exemplos de diferenciao
na produo de fcula e farinha podem ser: farinhas especiais, temperadas ou de
novas variedades de mandioca, fculas modificadas ou de qualidade controlada etc.
Os principais impulsionadores das vendas so o contato pessoal entre os agentes
envolvidos na cadeia e a disponibilidade do produto diante das demandas. Entretanto,
a comunicao no est de todo ausente na comercializao de fcula e farinha
de mandioca. A seguir, encontram-se alguns exemplos de prticas de divulgao,
fornecendo um conjunto de aes que poderiam ser aprofundadas e disseminadas
entre os agentes dos estgios iniciais da cadeia da mandioca.
A empresa Pantera (www.pantera.com.br), sediada na cidade de So
Paulo, pode ser vista como uma empacotadora e distribuidora na cadeia da
mandioca destinada ao uso industrial. Ela compra a farinha de mandioca de
fornecedores selecionados, atribuindo ao produto sua prpria marca, Pantera.
Adicionalmente colocao de sua marca, a empresa procura aprimorar a
qualidade da farinha, processando-a em sistemas de descontaminao de
metais e classificando-a devidamente para comercializao. Com isso, agrega
ao produto um valor percebido e desejado por seus clientes, e divulga essa
estratgia com campanhas publicitrias que reforam sua marca perante seus
mercados5.
A Yoki Alimentos, empresa familiar que ganhou espao significativo de
mercado nos segmentos de cereais, farinceos e condimentos, atua de
maneira diferenciada para seus dois pblicos: o consumidor final e o cliente
institucional. Sob a marca Yoki, comercializa (s na linha de derivados de
mandioca) farinha de mandioca fina, grossa, bijusada e torrada, polvilho doce
e azedo, sagu, tapioca e farofa pronta. Todos estes derivados da mandioca
so apoiados pela grande fora da marca, nacionalmente conhecida, e por sua
5
PANTERA ALIMENTOS. Site institucional. Disponvel em: www.pantera.com.br. Acesso em: 10 jul. 2007.
49
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
embalagem tradicional, semelhante a de seus outros produtos e facilmente
identificvel nos pontos de venda de auto-servio (supermercados e outros).
No mercado industrial atua sob a marca Indemil produzindo e comercializando
amidos nativos e modificados. O site do grupo (www.yoki.com.br) apresenta,
em cada uma de suas divises (uma voltada ao consumidor final e outra ao
cliente institucional), diferentes identidades visuais, ao mesmo tempo frisando
a sinergia gerada pelas duas marcas e separando abordagens, qualidades,
atributos e caractersticas de cada marca6.
As associaes pblicas ou privadas exercem importante papel na divulgao
das caractersticas e usos da mandioca e de seus derivados de mandioca:
- A ABAM assume a tarefa de prospeco de novos mercados e deapoio s
campanhas mercadolgicas de seus associados7;
- A EMBRAPA, alm de apoiar a atividade por meio do financiamento e da
realizao de pesquisas, compartilha o conhecimento gerado com diversos
setores da sociedade, aumentando a produo e o mercado da mandioca;
- O Sindicato das Indstrias de Mandioca do Paran (SIMP)8 tambm participa
dos sistemas representativos dos produtores e processadores da raiz.
Outros inmeros rgos poderiam ser aqui citados, demonstrando o espao
efetivo j estabelecido para o apoio na comunicao dos agentes envolvidos na cadeia
da mandioca, porm os trs acima citados exemplificam eficazmente o papel dessas
instituies.
5.8.1 Eventos
Outro importante meio de contato entre produtores e compradores de diversos
segmentos de mercado so as feiras de negcios. Em 2005, ocorreram 160 feiras de
grande porte, movimento cerca de R$ 3,2 bilhes, segundo dados da Unio Brasileira
dos Promotores de Feiras (UBRAFE). Alguns benefcios constatados na participao
dos micro e pequenos produtores neste tipo de evento so9:
Concentrao. A unio de diversos produtores um atrativo para os clientes,
que podem comparar com facilidade as diversas ofertas. Isso atrai um grande
nmero de pessoas, cuja freqncia ainda pode ser potencializada pelos
esforos de comunicao sobre o evento.
YOKI ALIMENTOS. Site institucional. Disponvel em: www.yoki.com.br. Acesso em: 9 jul. 2007.
7
ABAM (ASSOCIAO BRASILEIRA DE PRODUTORES DE AMIDO DE MANDIOCA). Site institucional.
Disponvel em: www.abam.com.br. Acesso em: 12 jul. 2007.
8
SIMP (SINDICATO DAS INDSTRIAS DE MANDIOCA DO PARAN). Site institucional. Disponvel em:
www.simp.org.br. Acesso em: 15 jul. 2007.
9
Baseado em: EXPOCACHAA. Site oficial do evento. Disponvel em: www.expocachaca.com.br. Acesso
em: 20 abr. 2007.
50
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Avaliao de desempenho. Os produtores podem obter feedbacks imediatos
sobre a aceitao de seus produtos. Modificaes podem ser feitas com
facilidade e rapidez.
Interesse do pblico. Uma parte dos visitantes de uma feira j entra nela com
a inteno de fechar negcios. H uma predisposio positiva busca de
acordos comerciais.
Estabelecimento de novos contatos. Importantes players do mercado
costumam marcar presena em feiras, o que amplia a possibilidade de se
desenvolver contatos que podem resultar em parcerias importantes para os
produtores menores.
Viso da competio. Estando ao lado de produtores concorrentes,
possvel analisar as formas de competir, as prticas produtivas e as tcnicas
mercadolgicas utilizadas por uma boa parte do setor.
Exemplos de eventos que podem representar oportunidades para os
processadores de farinha e fcula de mandioca so:
Congresso Brasileiro de Mandioca. Na sua 12 edio, realizada em 2007 no
plo de Paranava, o evento se beneficiou de uma credibilidade consolidada,
uma vez que dele participam, habitualmente, representantes das principais
empresas processadoras de mandioca do pas, alm de pesquisadores de
destaque na rea. um espao rico de aprendizado e compartilhamento de
informaes. Evidentemente, serve como ponte de contato entre indstria
e mercado, incentivando o comrcio e incrementando os negcios de seus
participantes. interessante notar que a cidade-sede do congresso de 2007
realizou intensa campanha de marketing visando trazer o evento para o
local. No apenas conseguiu atingir seu objetivo, como fortaleceu a imagem
do municpio como um dos principais plos produtores do Brasil (FLASH...,
2005).
Food Ingredients South America (Feira Internacional de Solues e Tecnologia
para a Indstria Alimentcia). Considerada como um dos maiores eventos do
gnero, rene fornecedores e fabricantes envolvidos na indstria alimentcia.
Alguns associados da ABAM, como Cargill, Cassava, National Starch e Yoki/
Indemil participaram da edio de 2005 com estandes prprios (ABAM...,
2005).
6. DIAGNSTICO DO MERCADO DE FCULA
E FARINHA DE MANDIOCA
A teoria administrativa e econmica prope uma srie de modelos que, quando
aplicados, auxiliam na compreenso da situao atual e de cenrios futuros de
determinado setor ou organizao. Aps um mapeamento das principais tendncias
levantadas a partir de informaes sobre o processamento e a comercializao da
51
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
farinha e fcula de mandioca, sero aplicados dois modelos consagrados: a anlise
estrutural da indstria, conforme proposta por Michael Porter10 e a matriz PFOA.
6.1 Tendncias para a cadeia de derivados da mandioca
6.1.1 Tendncias para a farinha de mandioca
Nos ltimos anos tem-se observado uma crescente profissionalizao do setor
de farinha de mandioca. As empresas vm se tornando maiores, melhor organizadas
e equipadas com mquinas que ampliam e aprimoram o processo produtivo. No
entanto, a informalidade ainda a grande marca da atividade farinheira, o que
contribui, inclusive, para a dificuldade considervel para se obter nmeros confiveis
sobre produo e consumo. Ao acompanhar este movimento de profissionalizao, o
pequeno empresrio aumentar suas possibilidades de insero neste mercado que
se encontra bastante maduro e comoditizado.
Ignorar a possibilidade e o acesso s melhorias no processo produtivo e nos
produtos finais, por outro lado, pode levar os micro e pequenos produtores a situaes
de perda de rentabilidade e at de risco de sobrevivncia; o lucro, se houver, ser muito
baixo em funo das margens cada vez mais reduzidas frente s novas demandas do
mercado e qualificao dos concorrentes de todos os portes.
Outra tendncia observada no setor a verticalizao, compreendida como a
integrao (em geral, por uma nica empresa), de vrias etapas ao longo da cadeia
produtiva da mandioca. No caso da farinha, os movimentos mais relevantes so as
aproximaes entre produtor e processador. Por vezes, o mandiocultor que inicia
atividades de processamento, agregando valor ao seu produto; em outras situaes,
o processador passa a produzir sua prpria matria-prima ou, alternativamente, a
fechar parcerias com os agricultores, de maneira a melhorar seus custos, garantir
o fornecimento no padro de qualidade e no volume especificado, e aumentar suas
margens. Este movimento de verticalizao, seja contratual ou corporativa, tende a
reduzir os custos de transao e a favorecer os agentes participantes da cadeia.
Por fim, uma terceira tendncia importante resulta da crescente presso das
instituies (pblicas e privadas) ligadas ao setor. O uso mais amplo da farinha de
mandioca como matria-prima de alimentos industrializados vem sendo estimulado,
muitas vezes com apoio governamental. A criao de uma cmara setorial para estudar
as melhores alternativas em relao s polticas pblicas um exemplo deste esforo
cada vez mais organizado e articulado entre associaes representativas, polticos e
pesquisadores.
10
PORTER, Michael. Estratgia Competitiva: tcnicas para anlise de indstrias e da concorrncia. Rio de
Janeiro: Campus, 1986.
52
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
6.1.2 Tendncias para a fcula de mandioca
O amplo desenvolvimento nos campos da biotecnologia representa uma das
tendncias mais significativas para a economia atual. Seu alcance generalizado
influenciar os mais diversos setores, gerando novas perspectivas econmicas,
sanitrias, mdicas e ecolgicas. A versatilidade da fcula de mandioca coloca-a como
importante objeto de estudo nesse campo. provvel que novos desenvolvimentos de
aplicaes e modificaes do amido venham a expandir ainda mais suas possibilidades
de utilizao.
Outra tendncia observada o maior investimento na criao de fecularias, muitas
das quais se localizam afastadas dos tradicionais plos produtores desse derivado da
mandioca. A maior exposio de alguns estados, como Gois e Mato Grosso do Sul,
se d justamente em funo deste crescimento da capacidade produtiva.
Uma terceira tendncia, esta relacionada ao mercado externo, a gradativa
reduo que alguns pases como a Tailndia devem observar em suas participaes
nas vendas globais. Isto tende a acontecer porque uma parte da produo da
raiz antes voltada para a fabricao da fcula dever ser redirecionada s usinas
de biocombustvel. Cria-se, dessa forma, um espao maior para a circulao
internacional da fcula. No entanto, o Brasil encontra-se em desvantagem perante
outros competidores internacionais, uma vez que sua moeda valorizada reduz a
competitividade das empresas instaladas no pas.
6.2 Anlise estrutural da indstria
Porter chama de indstria um grupo de empresas fabricantes de produtos
prximos entre si (ou seja, o que, no Brasil, comumente chamado de setor de
atividade). Segundo o autor, indstrias diferentes possuem estruturas distintas, que
so determinantes para as condies de competitividade que as empresas a elas
pertencentes enfrentaro, assim como so determinantes para suas perspectivas de
lucratividade.
A estrutura proposta por Porter pode ser mais bem compreendida ao se estudar
as cinco foras competitivas que a compem. Caso todas sejam favorveis, tornase possvel para um grande nmero de empresas atuarem nessa indstria (nesse
setor) de maneira lucrativa. Porm, se uma ou algumas foras forem demasiadamente
intensas e/ou desfavorveis, podem restringir as chances de xito de boa parte dos
players dessa indstria.
O foco desta anlise ser a da mandioca destinada ao mercado industrial, com
nfase nas etapas de processamento e de comercializao da farinha e da fcula de
mandioca.
53
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
6.2.1 Ameaa de novos entrantes
Esta fora se refere possibilidade da entrada de novos concorrentes na
indstria estudada. A produo de farinha e fcula processo razoavelmente
simples (em especial, o da farinha), o que implica em baixas barreiras de entrada e,
conseqentemente, uma ameaa considervel para os atuais produtores, em termos
de excesso de oferta (inclusive informal) e queda nos preos, mesmo locais.
Uma forma tradicional para dificultar o aumento excessivo da competio em
um setor tentar desenvolver aspectos diferenciados ao longo da cadeia produtiva,
desde a produo, em si, at a venda do produto. A credibilidade e a reputao de
quem fabrica, vende ou d nome ao produto (ou seja, coloca sua marca, como no
caso relatado da empresa Pantera) tornam-se diferenciais intangveis essenciais para
garantir, no longo prazo, a sustentabilidade e a vitalidade dos negcios j existentes.
Deve-se tentar criar, como se diz no jargo econmico, custos de mudana
para o cliente, ou seja, ganhar a fidelidade do cliente por lhe garantir segurana no
fornecimento, na qualidade, nos preos, tudo isso em razo da confiana gerada pela
marca do produto. Portanto, a criao de marcas fortes, com preos competitivos,
garantia de entrega e apoiadas em produtos de qualidade excelente so alguns dos
fatores para se utilizar esta estratgia.
importante lembrar que, nas situaes de crise que ocorreram nesse mercado
em anos recentes (preo elevado e/ou falta de oferta de produtos), os compradores
(eminentemente industriais) rapidamente buscaram alternativas de fornecimento fora
do pas, importando o amido de mandioca em quantidades muito superiores s que
adquiriam at ento. Isto significa que as barreiras para o mercado estrangeiro tambm
no so altas; por ser o amido uma commodity, dependendo da conjuntura econmica
nacional e internacional, a ameaa de novos entrantes tambm pode vir do exterior.
6.2.2 Ameaa de produtos substitutos
Esta uma fora altamente significativa no caso da fcula de mandioca. A
possibilidade de se usar amido de milho ou outros compostos de modo praticamente
intercambivel com a fcula de mandioca torna esta ameaa particularmente perigosa.
Essa possibilidade de fcil substituio torna bastante alta a elasticidade-preo do
amido de mandioca (ou seja, a sensibilidade do mercado s oscilaes nos preos
cobrados). Assim, pequenos aumentos de preo podem ocasionar redues dramticas
na venda do produto, forando seus produtores, algumas vezes, at a operar abaixo
dos custos de produo, devido perecibilidade do produto.
A farinha de mandioca tambm sofre com esta ameaa, uma vez que outros
alimentos podem substitu-la; contudo, o hbito alimentar j consolidado dos
consumidores conta a favor do produto.
A contrapartida da ameaa de novos entrantes pode ser vislumbrada por meio
da inverso dos papis, assumindo-se que a fcula de mandioca passe a avanar no
mercado industrial como substituta com caractersticas superiores a outros amidos,
54
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
em particular, o de milho. Portanto, diversos mercados em que hoje predomina o
amido de milho podem ser vistos como oportunidades de negcio para as fecularias,
desde que as caractersticas do produto sejam adequadas aplicao em questo.
No caso de empresas de micro e pequeno porte, essencial que atuem em conjunto,
para poder gerar uma oferta que atenda aos clientes industriais em termos de suas
expectativas em relao a quantidade, qualidade, regularidade de entrega e preo
competitivo do produto.
essencial, portanto, que o empreendedor que participa da cadeia produtiva da
mandioca conhea muito bem seus principais substitutos e acompanhe os movimentos
econmicos desses mercados com a mesma ateno com que acompanha seu prprio
setor. Preos, qualidade e quantidade das safras, entrada de novos produtores,
inovaes tecnolgicas e desenvolvimento de novas variedades, entre outros pontos,
devem ser monitorados de perto, para que as atividades desenvolvidas pelos agentes
da cadeia da mandioca estejam apoiadas em fundamentos seguros.
6.2.3 Poder de barganha dos fornecedores
Esta fora diz respeito ao poder que os fornecedores possuem nas negociaes
junto s empresas do setor. Dado o grande nmero de pequenos produtores da
mandioca, as empresas de fcula e farinha podem facilmente mudar de fornecedores,
o que atesta o baixo poder de barganha dos produtores. No entanto, o mercado da
raiz, como mencionado anteriormente, sofre certa instabilidade na quantidade e preo
oferecidos (at em razo das pocas de safra e entressafra), reduzindo ligeiramente
o poder de barganha dos processadores, que precisam garantir o fornecimento
permanente da matria-prima sob pena de ter que parar temporariamente suas
atividades.
Assim, quando h escassez da matria-prima (a raiz da mandioca), os plantadores
tm seu poder de barganha aumentado, pois podero escolher seus clientes com base
nas melhores ofertas. Adicionalmente, h uma interdependncia entre os mercados
de fcula e de farinha (BARROS, 2004, , p. 246): ambos competem pelo acesso raiz,
o que, em casos de escassez, ocasiona maior aumento de preo e uma disputa mais
intensa entre os processadores.
Quanto aos equipamentos necessrios produo, em geral no so caros,
principalmente quando comparados maquinaria essencial a outros processos de
industrializao de alimentos. Alm disso, h diversas empresas que os fabricam,
diluindo o poder de barganha destas organizaes.
6.2.4 Poder de barganha dos compradores
As condies com que os compradores entram no processo de negociao
tambm podem representar ameaas lucratividade de um setor. Para a farinha, os
canais de escoamento do produto so razoavelmente acessveis, com exceo dos
supermercados, cada vez mais concentrados e poderosos, conforme j explorado
55
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
neste relatrio. Portanto, a maior ameaa para as farinheiras que pretendem trabalhar
com grande pulverizao da distribuio a entrada nestes canais; para conseguir
esse ingresso, muitas vezes so submetidas a condies comerciais pouco vantajosas
para o produtor.
A fcula, predominantemente comercializada em mercados industriais, defrontase com compradores em nmero substancialmente menor e de maior porte; portanto,
so agentes com maior poder de barganha. Por outro lado, as potencialidades da
fcula para compor diversos processos produtivos (como na fabricao de embutidos,
por exemplo) reduzem bastante este poder: determinados agentes (indstrias) aceitam
pagar sobre-preos de at 20% na fcula de mandioca em relao a seus substitutos,
em razo das vantagens nicas e dos atributos que seu uso proporciona (ARIENTE
et al, 2005, p. 57).
6.2.5 Rivalidade entre competidores existentes
Apesar de concorrerem entre si, as empresas de micro, pequeno e grande
porte diferem muito na maneira como se colocam no mercado como um todo. Os
grandes players visam vender aos compradores institucionais igualmente poderosos;
os volumes transacionados so significativos e os contratos celebrados tendem a ser
mais rgidos e formais.
J as pequenas casas de farinha ou fecularias trabalham predominantemente
com fabricantes ou canais de porte mdio a pequeno, com base em transaes
pontuais e, muitas vezes, pautadas pela informalidade. Ao contrrio do mercado
de grandes volumes, cujas oportunidades de diferenciao constituem boas fontes
competitivas, o preo que estabelece a principal dinmica da concorrncia dos
produtores menores.
O grande nmero de competidores no setor (estimulado pelas baixas barreiras
de entrada e pela aparente simplicidade do processo produtivo) pode acarretar
dificuldades na manuteno de relaes comerciais estveis e de longa durao.
Para tentar preservar essas relaes sempre ameaadas por outros concorrentes, os
produtores devem ter ateno redobrada em relao a cumprimento de prazos, padres
de qualidade, quantidades de mercadoria e estabilidade de preos, considerados
fatores crticos para o sucesso na indstria.
A Figura 6 resume os principais aspectos ligados estrutura da indstria dos
derivados de mandioca.
56
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Figura 6 Foras competitivas para a indstria de derivados de mandioca
Ameaa de novos
entrantes
- Baixos inverstimentos
- Importao de fcula em
caso de escassez
Poder de barganha dos
fornecedores
-Baixa, devido ao grande
nmero de pequenos
produtore de mandioca
Rivalidade
- Concorrncia diferente
entre pequenos produtores
(foco em preos) e
grandes produtores (foco
em diferenciao)
Poder de Barganha dos
Compradores
- Ateno concentrao de
supermercados e usurios
de amido
Ameaa de substitutos
- Outras farinhas
- Amido de milho ou
de babata so quase
intercambveis
Fonte: elaborado pelo autor.
6.3 Anlise PFOA
Uma das mais tradicionais matrizes de diagnstico empresarial, a PFOA (tambm
conhecida como SWOT strenghts, weaknesses, opportunities and threaths, no original
em ingls) rene os principais aspectos ligados ao negcio, tanto internos quanto
externos organizao analisada. A sigla se refere a Potencialidades e Fraquezas
(fatores internos empresa, positivos ou negativos) e Oportunidades e Ameaas
(fatores externos empresa, que podem lhe abrir perspectivas de crescimento e/ou
lucratividade ou at colocar em risco sua sobrevivncia).
Para a finalidade deste relatrio, o foco da anlise no foi centrado e, nenhuma
empresa especfica, mas na mandiocultura e, mais especificamente, no setor de
farinha e fcula de mandioca. importante observar que a aplicao setorial da PFOA
para cada micro ou pequena empresa exigir adequaes, como a redefinio dos
critrios de separao de Potencialidades/Fragilidades e Oportunidades/Ameaas.
Os aspectos aqui sintetizados na PFOA foram detalhadamente tratados ao longo dos
captulos anteriores deste relatrio.
57
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Tabela 20 Matriz PFOA para o setor de fcula e farinha de mandioca
POTENCIALIDADES
FRAGILIDADES
Hbito consolidado de consumo de farinha por parte Baixas margens
Baixo
investimento
em
melhoria
de
do brasileiro
produtividade e qualidade
Facilidade de cultivo da mandioca
Versatilidade nas aplicaes industriais da fcula, Falta de padronizao da qualidade dos
produtos
devido a suas caractersticas fsico-qumicas
Alta produtividade comparada a outras culturas
OPORTUNIDADES
AMEAAS
Desenvolvimento de APLs estruturados
Fortalecimento das instituies de apoio
Mercado internacional de fcula de mandioca
Uso de cultivares adequados a cada finalidade
Pesquisas
tecnolgicas
envolvendo
novas
modificaes do amido, inclusive com nfase em
processos naturais
Verticalizao da cadeia produtiva
Crescente poder de barganha das redes
varejistas
O comportamento do consumidor torna a
demanda da farinha inelstica
Falta de articulao da cadeia produtiva
Fcil substituio no consumo dos derivados
de mandioca
Oscilaes
significativas
dos
preos
independente do controle dos produtores e
processadores
Fonte: elaborado pelo autor.
6.3.1 Potencialidades
Hbito consolidado de consumo de farinha por parte do brasileiro. Presente
no territrio brasileiro mesmo antes do Descobrimento, a farinha de mandioca
figura como alimento essencial para uma grande parte da populao. a
mais popular fonte de carboidrato entre as famlias de menor poder aquisitivo,
dada facilidade de produo e ao baixo custo em relao a outros alimentos.
Diversos pratos tpicos utilizam-na como ingrediente. possvel aproveitar esta
fora histrico-cultural para sustentar os nveis de consumo e at aumentar a
participao da farinha de mandioca na alimentao do brasileiro.
Facilidade de cultivo da mandioca. Tida como cultura rstica, a mandioca
uma planta altamente resistente a pragas e estiagens (apesar de ambas
prejudicarem seu pleno desenvolvimento). No exige tecnologias avanadas
para plantio ou colheita. Por estas caractersticas, denominada cultura de
quintal e sua disseminao importante para o fornecimento de matriaprima para a produo de farinha e fcula.
Versatilidade nas aplicaes industriais da fcula, devido a suas caractersticas
fsico-qumicas. H diversos usos j conhecidos para a fcula de mandioca,
tanto na indstria alimentcia quanto na txtil e de papel, entre outras. As
58
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
caractersticas do produto conferem-lhe vantagens em alguns dos processos
produtivos, justificando at o pagamento de sobre-preos por parte dos
usurios, em relao a outros amidos. A fcula de mandioca incolor e
inspida, com boa viscosidade e elevada capacidade espessante.
Alta produtividade comparada a outras culturas. A deciso de se plantar
mandioca em vez de outras plantas para alimentao pode passar pela
comparao dos nveis de produtividade: as limitaes no tamanho das
pequenas propriedades rurais podem incentivar a adoo daquela cultura
gerando maior quantidade de alimento por rea.
6.3.2 Fragilidades
Baixas margens. Por serem produtos com baixo valor agregado, a fcula e
principalmente a farinha de mandioca acabam obtendo baixas margens pagas
sobre os custos de produo. Este fato pressiona a adoo de prticas que
visem aumentar a escala, o que muitas vezes no possvel para os pequenos
produtores.
Baixo investimento em melhoria de produtividade e qualidade. Como
conseqncia das baixas margens, no h recursos disponveis para
melhorar os ndices de produtividade por meio da adoo de tecnologias
mais avanadas. Tambm a qualidade dos produtos finais fica comprometida,
dada a precariedade dos equipamentos utilizados nos sistemas de produo
mais rsticos. Problemas como este desqualificam a entrada dos produtos
brasileiros no mercado internacional.
Falta de padronizao da qualidade dos produtos. A no-adoo de prticas
comprovadamente superiores no processo produtivo, em especial no caso
da farinha de mandioca, pode gerar produtos em desacordo com as normas
tcnicas de segurana alimentar. Alm disso, a cuidadosa classificao dos
produtos essencial para o crescimento e consolidao do consumo, pois
fator importante na etapa de comercializao.
6.3.3 Oportunidades
Desenvolvimento de APLs estruturados. A criao e o estmulo ao crescimento
de Arranjos Produtivos Locais podem representar uma grande oportunidade
para o desenvolvimento de todos os agentes envolvidos na cadeia industrial
da mandioca. Para os produtores, o APL proporciona um apoio institucional
determinante para seu sucesso; os processadores desfrutam da proximidade
de seus fornecedores e podem trabalhar em conjunto com estes no
desenvolvimento de melhores prticas de cultivo; a comercializao do
produto pode ser facilitada pela melhoria da reputao do local, entre outras
vantagens.
59
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Fortalecimento das instituies de apoio. A existncia de entidades como a
Associao Brasileira de Produtores de Amido de Mandioca (ABAM), o Instituto
Agronmico de Campinas (IAC), a Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical,
o Centro de Estudos Avanados em Economia Aplicada (CEPEA) e o Servio
Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), entre outros,
fundamental para o desenvolvimento da cadeia.
Mercado internacional de fcula de mandioca. Alteraes recentes nas regras
de comercializao internacional do amido de mandioca tm criado novas
oportunidades para exportao. Multiplicam-se as aplicaes conhecidas, a
demanda por parte dos pases importadores e as possibilidades de modificaes
no amido que agregam valor ao produto e o diferencia em mercados mais
exigentes.
Uso de cultivares adequados a cada finalidade. O importante trabalho de
pesquisa e desenvolvimento de novos cultivares, adequados a climas e usos
especficos, deve chegar s propriedades rurais, de forma a que estas possam
incorporar os resultados das pesquisas em seu processo produtivo e, dessa
forma, obter um produto de melhor qualidade e rendimento.
Pesquisas tecnolgicas envolvendo novas modificaes do amido, inclusive
com nfase em processos naturais. A crescente preocupao do mercado
consumidor com aspectos relacionados sade tem alterado significativamente
os hbitos de consumo de alimentos. Isto se reflete na procura cada vez
maior por frutas e verduras orgnicas e tambm por produtos industrializados
que contenham menos sal, gordura, conservantes e corantes. Pesquisas
que dem preferncia s modificaes por meios fsicos em vez de utilizar
componentes qumicos podem se aproveitar estas mudanas, oferecendo
indstria ingredientes que contribuam para a criao de produtos mais naturais
e, portanto, mais atrativos para este novo perfil de consumo.
Verticalizao da cadeia. A busca por melhor integrao da cadeia da mandioca
s tem a contribuir para o resultado obtido por todos os agentes nela envolvidos.
O fortalecimento de produtores, processadores e distribuidores aumenta a
competitividade da rede e a coloca em melhor posio de barganha, tanto
interna quanto externamente ao pas. Os contratos de longo prazo so uma
das formas freqentemente usadas para integrar os elos da cadeia, gerando
maior previsibilidade, cooperao e retorno, ou seja, garantindo a estabilidade
que fundamental para a consolidao de uma indstria.
6.3.4 Ameaas
Crescente poder de barganha das redes varejistas. Cada vez mais
concentrados e poderosos, os supermercados impem crescentes obstculos
aos pequenos produtores de farinha e fcula, especialmente na forma de
60
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
precificao inadequada frentes aos custos de produo destes. O resultado
o acesso dificultado entre os produtores e os consumidores, principalmente
os de renda mais elevada. A necessidade de escala se intensifica devido a
esta ameaa.
O comportamento do consumidor torna inelstica a demanda da farinha.
Quando h escassez de matria-prima, as farinheiras reduzem a produo
e aumentam os preos. Por conta dos hbitos consolidados de consumo
da farinha, h uma tendncia de menor queda na quantidade demandada
e de maior aumento de preos, resultando em prejuzo aos consumidores.
Nos perodos de oferta excessiva e preos baixos, o consumo no cresce
no mesmo ritmo, gerando prejuzo aos processadores. Novamente, a falta
de estabilidade no incentiva novos investimentos e diminui as margens dos
participantes da indstria.
Falta de articulao da cadeia produtiva. Atualmente, os compromissos estveis
entre os elos da cadeia produtiva ainda so reduzidos. O comportamento
do gnero cada um por si impossibilita o aproveitamento de sinergias e o
crescimento cooperado.
Fcil substituio no consumo dos derivados de mandioca. A farinha de
mandioca teve uma diminuio no seu consumo desde a dcada de 70,
dado o crescimento da participao de outras massas, como o macarro,
na alimentao bsica do brasileiro. J a fcula tem um forte concorrente
substituto: o amido de milho. Em perodos de altos preos, as indstrias
rapidamente mudam a sua matria-prima, com necessidades mnimas de
ajuste nos processos produtivos.
Oscilaes significativas dos custos do insumo principal. A raiz de mandioca
apresenta variaes muito amplas no seu preo, por ser uma commodity, o que
dificulta a atuao dos processadores de derivados. A falta de previsibilidade
na determinao dos custos prejudica os esforos de planejamento e
desestimulam a entrada de novos players no setor.
61
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
7. CONSIDERAES FINAIS
A anlise setorial aqui realizada revela a importncia da mandiocultura no Brasil.
A cadeia formada a partir desta raiz, historicamente cultivada, e ligada de maneira
muito forte com os hbitos e costumes do brasileiro, contempla desde produtos
simples, como a mandioca in natura ou minimamente processada, at produtos de
alto valor agregado, como os amidos modificados. A aplicao ampla dos derivados
em indstrias variadas torna as oportunidades numerosas e vantajosas, caso sejam
bem estudadas e desenvolvam-se estratgias adequadas a cada situao.
A indstria da farinha e da fcula de mandioca dever enfrentar desafios
relevantes, caso queira aproveitar todo o potencial que a natureza destes produtos
oferece a seus usurios. O desenvolvimento tecnolgico uma das reas que deve
receber maior ateno por parte dos processadores, na forma de adoo de mquinas
mais eficientes e que possibilitem a obteno de produtos de melhor qualidade. A
produtividade est estreitamente ligada competitividade dos agentes da cadeia.
Outra preocupao que deve ser trabalhada entre todos os agentes envolvidos
na produo e comercializao de farinha e fcula a estabilizao dos preos.
Oscilaes abruptas e freqentes no custo da matria-prima afetam as condies
de planejamento e maximizao dos retornos dos investimentos. O resultado so
farinheiras e fecularias que precisam lidar constantemente com ociosidade e prejuzo.
O fortalecimento da cadeia, por meio de trabalhos cooperativos entre seus diversos
elos, vem aprimorar os resultados obtidos pela rede como um todo.
Os micro e pequenos produtores e processadores precisam ser apoiados em suas
atividades para sobreviver e crescer frente s mudanas que o setor vem sofrendo.
Esse apoio tem forte motivao social, uma vez que a mandiocultura representa o
principal meio de sustento para milhares de famlias. Alm disso, a mandioca constitui
fonte privilegiada de alimentao dado seu baixo preo e alta concentrao de
carboidratos.
Porm, no se pode restringir a cadeia da mandioca a apenas uma forma de
subsistncia por parte de seus atores; ela pode, como j comprovado nos maiores
plos produtores, ser responsvel pelo desenvolvimento econmico de toda uma
regio, por vezes at marcada pela insero internacional de suas empresas. Neste
contexto, micro e pequenos empresrios tm seu papel a desempenhar e, com o
apoio adequado, tm condies de contribuir significativamente para a prosperidade
do pas.
62
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
8. REFERNCIAS
AGNCIA FAPESP. Pesquisadores da USP criam plstico comestvel de mandioca. O
Estado de S. Paulo, 31 jan. 2007, Caderno Cincia.
ABAM: 10 anos participando da Food Ingredients. Revista ABAM, a.III, n.12, out./dez.
2005. Disponvel em: <http://www.abam.com.br/revista>. Acesso em: 10 jul. 2007
ALVES, L. R. A.; FELIPE, F. I. Mandioca no suporta presso da cana. Jornal de
Piracicaba, 4 jul. 2006, p. B-4.
ALVES, L. R. A.; FELIPE, F. I.; BARROS, G. S. de C. Custo de produo de mandioca
no Estado de So Paulo: mandioca industrial (maio/04) e de mesa (jun./2004).
Disponvel em: <http://www.cepea.esalq.usp.br>. Acesso em: 15 jun. 2007.
ARIENTE, Marina et al. Competitividade na indstria de fcula de mandioca: estudo
exploratrio. Revista FAE, Curitiba, v. 8, n. 2, p.53-60, jul./dez. 2005.
BARROS, Geraldo SantAna de C. (coord.). Melhoria da competitividade da cadeia
agroindustrial de mandioca no Estado de So Paulo. So Paulo/Piracicaba: Sebrae/
CEPEA (Esalq/USP), 2004.
BRASIL. Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior. Levantamento
APLs 2003. Disponvel em: <http://www.mdic.gov.br>. Acesso em: 15 jun. 2007.
BRASIL. Portaria 554, de 30 de agosto de 2005. Dispe sobre as normas de
identidade, qualidade, acondicionamento, armazenamento e transporte da farinha de
mandioca. Disponvel em: <http://www.engetecno.com.br. Acesso em: maio 2007.
BATISTA, Josaf. Amido de mandioca reduz em at 15% o custo do papel obtido a
partir da celulose. Pgina 20, 7 jan. 2003. Disponvel em: <http://www2.uol.com.br/
pagina20>. Acesso em: 3 jun. 2007.
CMARA CASCUDO, Lus da. Dicionrio do folclore brasileiro. 10. ed. Rio de
Janeiro: Ediouro, [s.d.].
CAMARGO, Maria Thereza L. de A. Estudo etnobotnico da mandioca (Manihot
esculenta Crantz Euphorbiaceae) na dispora africana. In: Herbarium estudos
de etnofarmacobotnica. Disponvel em: <http://www.aguaforte.com.br/herbarium>.
Acesso em: 17 mar. 2007.
CARDOSO, Carlos E. L.; ALVES, Lucilio R. A.; FELIPE, F. I. Avanos nas regras do
comrcio internacional podem criar oportunidades para a cadeia da mandioca.
63
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Disponvel em: <http://http://cepea.esalq.usp.br/pdf/artigo-mandioca.pdf>. Acesso em:
10 mar. 2007.
CARDOSO, Carlos Estevo Leite. Competitividade e inovao tecnolgica na
cadeia agroindustrial de fcula de mandioca no Brasil. 2003. Tese (doutorado)
Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de So Paulo.
Piracicaba, 2003.
CARVALHO, Luiz J. C. B. Biodiversidade e biotecnologia em mandioca. XI Congresso
Brasileiro de Mandioca. Anais... Campo Grande: Embrapa, 2005.
CEPEA/ESALQ-USP. Levantamento semanal de preos (produtor). Disponvel em:
<http://www.cepea.esalq.usp.br>. Acesso em: 11 jul. 2007.
CEPEA/ESALQ-USP. Valor de produo da fcula cai 7% em 2006, com produo
5,1% maior. Disponvel em: <http://www.cepea.esalq.usp.br>. Acesso em: 12 jul.
2007.
CEREDA, Marney Pascoli. Fcula de mandioca como ingrediente para alimentos.
Revista da ABAM, a.III, n.11, jul./set. 2005. Disponvel em: <http://www.abam.com.br/
revista>. Acesso em: 15 mar. 2007.
EMBRAPA. Cultivo da mandioca na regio centro sul do Brasil. Disponvel em:
<http://www.embrapa.gov.br>. Acesso em: 15 abr. 2007.
EMBRAPA. Cultivo da mandioca na regio dos Tabuleiros Costeiros. Disponvel
em: <http://www.embrapa.gov.br>. Acesso em 15. abr. 2007.
EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA TROPICAL. Perguntas e respostas:
mandioca. Disponvel em: <http://http://www.cnpmf.embrapa.br>. Acesso em: 23 abr.
2007.
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). Agricultural Department.
A review of cassava in Latin Amrica and the Caribbean with countries: case
studies on Brazil and Colombia. Disponvel em: <http://www.fao.org/docrep/007/
y5271e/y5271e07.htm>. Acesso em: 15 maio 2007.
FAO. Starch market adds value to cassava. Out. 2006. Disponvel em: <http://http://
www.fao.org/ag/magazine/0610sp1.htm>. Acesso em: 12 maio 2007.
FAOSTAT. Faostat database. Disponvel em www.faostat.org>. Acesso em: 15 mar.
2007.
64
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
FARINHA de trigo ter adio de mandioca. Gazeta Mercantil, 13 dez. 2006. Disponvel
em: <http://www.portaldoagronegocio.com.br>. Acesso em: 20 mar. 2007.
FEIDEN, Armin. Legislao ambiental e aspectos relacionados com a cadeia produtiva
da mandioca. XI Congresso Brasileiro de Mandioca. Anais... Campo Grande: Embrapa,
2005.
FELIPE, F. I.; ALVES, L. R. A.; CAMPION, M. T. Cadeia produtiva da mandioca: o
que se viu e o que esperar para 2007. 2007. Disponvel em: <http://www.cepea.esalq.
usp.br>. Acesso em: 15 jun. 2007.
FLASHES do Congresso. Revista ABAM, a.III, n.12, out./dez. 2005. Disponvel em:
<http://www.abam.com.br/revista>. Acesso em: 10 jul. 2007.
FOLEGATTI, Marlia I. S.; MATSUURA, Fernando C. A. U. Mandioca e derivados.
Cruz das Almas: Embrapa Mandioca e Fruticultura, [s.l.], [s.d.].
FUKUDA, Wania. Variedades de mandioca para a produo de fcula. Disponvel
em: <http://www.abam.com.br/mat_tecnicos>. Acesso em: 24 abr. 2007.
GAMEIRO, Augusto H. Mandioca: de alimento bsico matria-prima industrial.
CEPEA ESALQ/USP. Disponvel em: <http://http://www.cepea.esalq.usp.br/pdf/
mandioca_contexto.pdf>. Acesso em: 12 abr. 2007.
IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATSTICA). Levantamento
sistemtico da produo agrcola. Rio de Janeiro: 2006.
IBGE. Pesquisa de oramento familiar (POF). Disponvel em: <http://www.sidra.
ibge.gov.br>. Acesso em: 30 jul. 2007.
IBGE. Produo Agrcola Municipal (PAM). v.32. Rio de Janeiro: 2005.
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administrao de Marketing. 12. ed. So
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006.
LE BOURLEGAT, Cleonice A.; VALLE, Paulo Cezar S. do. Potencialidades endgenas
do arranjo produtivo local da fcula de mandioca no Vale do Ivinhema, MS. XI Congresso
Brasileiro de Mandioca. Anais... Campo Grande: Embrapa, 2005.
MANDIOCA BRASILEIRA. Disponvel em: <http://www.mandioca.agr.br>. Acesso em:
12 ago. 2007.
MANDIOCA para beber. Revista da ABAM, a. IV, n.14, abr./jun. 2006. Disponvel em:
<http://www.abam.com.br/revista>. Acesso em: mar. 2007.
65
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
MATSUURA, Fernando C. A. U.; FOLEGATTI, Marlia I. S.; SARMENTO, Silene
B. S. Iniciando um pequeno grande negcio agroindustrial: processamento da
mandioca. Braslia: Embrapa/Sebrae, 2003. (Srie Agronegcios)
MELO, B.; SILVA, C. A.; ALVES; P. R. B. Processamento mnimo de hortalias e
frutas. Universidade Federal de Uberlndia Ncleo de Estudo em Fruticultura no
Cerrado. Disponvel em: <http://www.fruticultura.iciag.ufu.br/>. Acesso em: 12 jul.
2007.
OHAIR, Stephen. Cassava. New Crop (site virtual). Indiana (EUA): Center for New
Crops & Plant Products, 1998. Disponvel em: <http://www.hort.purdue.edu/newcrop>.
Acesso em: 20 mar. 2007.
PACHECO, Maria Ins N. APL Mandioca: uma janela para o desenvolvimento
sustentvel do Agreste Alagoano. Rede Ns. Disponvel em: <http://www.redenos.
org.br>. Acesso em: 10 jun. 2007.
PARAN atrai trs fecularias de mandioca der US$ 25 milhes. Notcia n. 1051. Portal
do Agronegcio. Disponvel em: <http://www.portaldoagronegocio.com.br>. Acesso
em: 15 jul. 2007.
PEREZ, Priscilla. Bancos de germoplasma garantem futuro da cultura: entrevista com
Nivaldo Peroni. Projeto Mandioca Brasileira. Disponvel em: <http://www.abam.com.
br/not.php?id=80>. Acesso em: 11 mar. 2007.
PORTAL DO AGRONEGCIO. Embrapa inaugura Centro de Tecnologia em
Mandioca. Disponvel em: www.portaldoagronegocio.com.br. Acesso em: mar. 2007.
PORTER, Michael. Clusters and the new economics of competition. Harvard Business
Review, Cambridge, p. 78, nov. 1998
REIS, K. C. de et al. Pepino japons (Cucumis sativus L.) submetido ao tratamento com
fcula de mandioca. Cincias Agrotcnicas, v.30, n.3, p. 487-93, maio/jun. 2006.
RETEC-BA (Rede de Tecnologia da Bahia). Sensibilidade das plantaes de
mandioca. Salvador: Servio Brasileiro de Respostas tcnicas, ago. 2006.
RIQUEZAS naturais do amido. Revista da ABAM, a.II, n.7, jun./ago. 2004. Disponvel
em: <http://www.abam.com.br/revista>. Acesso em: 3 mar. 2007.
SILVA, Messias Nicodemus et al. Anlise do mercado de mandioca e derivados no
municpio de So Lus, MA. XI Congresso Brasileiro de Mandioca. Anais... Campo
Grande: Embrapa, 2005.
66
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
SISTEMA FIEP. Indstrias de Paranava se unem para diversificar e melhorar a
produo da mandioca. Federao das Indstrias do Estado do Paran. Disponvel
em: <http://www.ielpr.org.br/apl>. Acesso em: 5 jun. 2007.
VILPOUX, Olivier. Produo de farinha dgua no Estado do Maranho. In: Fundao
Cargill. Culturas de tuberosas amilceas latino-americanas. V.3 Tecnologia, usos
e potencialidades de tuberosas amilceas latino-americanas. Set. 2003.
67
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
9. ESPECIALISTAS PARA CONTATO
Durante a pesquisa documental realizada, alguns nomes ligados ao setor
apareceram de maneira mais freqente. Abaixo, encontram-se os nomes de cinco
especialistas na indstria de mandioca e derivados, acompanhados de suas principais
atividades. Suas produes bibliogrficas, entrevistas e atuao no setor indicam uma
viso detalhada e precisa sobre a mandiocultura, o que os torna importantes fontes de
consulta para pesquisas futuras.
Carlos Estevo Leite Cardoso pesquisador da Embrapa e pesquisador convidado do
CEPEA (ESALQ/USP). Pesquisa prioritariamente o mercado de mandioca e derivados,
alm de gesto de cadeias agroindustriais.
Ivo Pierin Jnior Fundador e proprietrio da empresa Podium Alimentos, no Paran.
Ocupa atualmente o cargo de presidente da ABAM.
Methodio Groxko Economista, tcnico da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento
do Paran/ Departamento de Economia Rural (SEAB/DERAL). Tem sido interlocutor
entre diversos setores ligados mandiocultura.
Nivaldo Peroni Engenheiro agrnomo, atualmente desenvolve pesquisas na
Universidade Federal de Santa Catarina, com nfase em gentica e ecologia. A
mandioca est entre os temas pesquisados por ele.
Olivier Francois Vilpoux Professor pesquisador da Universidade Catlica Dom Bosco,
onde desenvolve um grande nmero de investigaes envolvendo a mandioca e seus
derivados.
68
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
10. GLOSSRIO
ABAM: Associao Brasileira de Produtores de Amido de Mandioca.
cido ciandrico (HCN): mesmo que cianeto de hidrognio. Composto qumico
encontrado na mandioca, em maiores ou menores propores, gerando seu potencial
txico. eliminado (quase totalmente, no caso das mandiocas mansas) pelo cozimento
da raiz.
Amido (nativo e modificado): polissacardeo sintetizado em estruturas vegetais. A
fcula denominao mais restrita do amido, aplicvel apenas aos produtos derivados
de tubrculos ou razes. Amidos podem ser comercializados de duas maneiras: o amido
nativo (da forma como extrado, por processos mecnicos) ou modificado (que sofre
alteraes em suas caractersticas, acrescentando-lhe propriedades especficas para
cada aplicao).
ANVISA: Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria.
Arranjos Produtivos Locais (APL): aqui assumido como sinnimo de cluster, referese a uma concentrao geogrfica de empresas dedicadas a um setor especfico.
Beneficiamento: processos pelos quais passam certos produtos agrcolas, antes da
industrializao ou comercializao.
Cadeia produtiva: concepo da produo de bens como um sistema em que as
atividades de diversos atores so interdependentes.
Carboidrato: substncia orgnica relacionada ao armazenamento energtico. um
dos elementos essenciais na alimentao humana.
Casas de farinha e farinheiras: estabelecimentos dedicados produo de farinha.
Casas de farinha geralmente se refere a empreendimentos de pequeno porte, em
contraste com as grandes farinheiras.
CEASA: Central de Abastecimento S.A., importante atacadista de produtos hortifruti.
CEPEA: Centro de Estudos Avanados em Economia Aplicada, ligado Escola
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP).
CIAT: Centro Internacional de Agricultura Tropical, sediado em Cali, na Colmbia.
Cluster: ver Arranjos Produtivos Locais.
69
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Commodity: bem homogneo em estado bruto, geralmente produzido e comercializado
em escala mundial.
Conab: Companhia Nacional de Abastecimento.
Concorrncia perfeita: estrutura de mercado na qual os seus atores so muito
numerosos, homogneos e equilibrados,
CTM: Centro de Tecnologia em Mandioca, unidade de apoio e pesquisa da
mandiocultura, ligada Embrapa na Bahia (Cruz das Almas).
Cultivar: variedades da planta. Exemplos de cultivares de banana so: Prata, Caipira,
Ouro, Nanica, Grande Naine.
Cultura rstica (ou de quintal): plantaes que no necessitam de cuidados muito
sofisticados e, devido facilidade de seu cultivo, encontra-se bastante disseminado
em lavouras de pequeno porte, destinadas ao consumo prprio.
Diagnstico Setorial: anlise das condies econmicas e competitivas de um
determinado setor.
Economia de escala: reduo dos custos unitrios em funo da quantidade
produzida. Quanto maior o volume de produo, maiores os descontos.
Embrapa: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria, instituio pblica ligada ao
Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento.
Espessantes: substncias utilizadas para engrossar misturas, em especial na indstria
alimentcia.
FAO: Food and Agriculture Organization, rgo da ONU dedicado a estudos e aes
relativos alimentao.
Farinha de mandioca: principal derivado da mandioca no Brasil, o produto obtido
pela triturao e secagem da raiz. Pode ser classificada em grupo, subgrupo, classe e
tipo, dependendo do processo produtivo e de suas caractersticas finais.
Fcula de mandioca: carboidrato extrado da raiz da mandioca. Sua aparncia de
um p branco inodoro e sem sabor, utilizado em diversas indstrias para variadas
aplicaes. Fculas so amidos gerados de tubrculos ou razes.
Fecularias: estabelecimentos dedicados produo da fcula.
70
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Foras competitivas de Porter: modelo de anlise setorial criada por Michael Porter.
Identifica cinco foras que determinam a estrutura de uma indstria, diagnosticando
as principais dificuldades encontradas pelas empresas dela participantes.
Germoplasma: recurso gentico utilizado para a pesquisa em geral, e especialmente
para programas de melhoramento gentico.
Granulometria: especificao do tamanho das partculas, neste caso, constitutivas
da farinha de mandioca.
Hibridizao: cruzamento de espcies diferentes de planta.
IAC: Instituto Agronmico de Campinas.
IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica.
In natura: comercializada sem ou com um mnimo de processamento. Aplica-se
comumente, no caso da mandiocultura, raiz fresca ou seca.
Leis fitossanitrias: regulamentaes que dizem respeito as condies sanitrias de
produtos extrados de plantas.
Mandiocas bravas: variedades que contm altos nveis de cianognicos, tornandoas txicas quando consumidas in natura.
Mandiocas Mansas (de mesa ou doces): variedades com baixo nvel cianognico,
o que as tornam propcias ao uso in natura. Deve-se observar que, mesmo assim,
necessrio o cozimento da raiz para se eliminar o HCN.
Manipueira: lquido gerado a partir do processo produtivo da fcula de mandioca.
txico e poluente, o que exige tratamento adequado antes do seu descarte.
Matriz PFOA (SWOT): modelo de anlise de uma empresa. Lista as foras, fraquezas,
ameaas e oportunidades de uma organizao.
Melhoramento gentico: pesquisa cuja finalidade a criao de variedades para
cultivo superiores em determinados aspectos, como valor nutritivo, resistncia a
pragas, sabor ou durabilidade.
Oligoplio: estrutura de mercado na qual apenas algumas empresas competem entre
si, com significativas barreiras de entrada para novos concorrentes.
OMC: Organizao Mundial do Comrcio, entidade supranacional dedicada regulao
das relaes comerciais internacionais.
71
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Player: participantes de um determinado setor, tipicamente os competidores.
Poder de barganha: fora na negociao.
POF: Pesquisa de Oramento Familiar, levantamento realizado pelo IBGE.
Produto substituto: produto que satisfaz a mesma necessidade de outro, porm com
formas materiais distintas.
Pubagem: processo de fermentao, pelo qual passa a farinha dgua.
SIMP: Sindicato de Indstrias de Mandioca do Paran.
UE: Unio Europia.
Valor agregado: conjunto de valores adicionados ao preo de um produto, em funo
de benefcios agregado.
72
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
11. ANEXOS
Texto integral da Portaria n 554, de 30 de agosto de 1995.
PORTARIA n 554, de 30 de Agosto de 1995
O Ministro de Estado da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrria, no uso
das atribuies que lhe confere o artigo 87, Pargrafo nico, II da Constituio da
Repblica, tendo em vista o disposto na Lei n 6.305, de 15 de dezembro de 1975, e
no Decreto n 2.110, de 14 de agosto de 1978, e
Considerando a necessidade de serem estabelecidas novas especificaes para a
Padronizao e Classificao da Farinha de Mandioca, destinada comercializao
no mercado interno, RESOLVE:
Art. 1 - Aprovar a anexa Norma de Identidade, Qualidade, Acondicionamento,
Armazenamento e Transporte da Farinha de Mandioca, para fins de comercializao.
Art. 2 - Esta Portaria entra em vigor quinze dias aps a sua publicao, quando ficar
revogada Portaria n 244, de 26 de outubro de 1981, deste Ministrio.
JOS EDUARDO DE ANDRADE VIEIRA
(Publicada no D.O.U - de 01/09/95.)
NORMA DE IDENTIDADE, QUALIDADE, APRESENTAO, EMBALAGEM,
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DA FARINHA DE MANDIOCA
1 OBJETIVO
A presente Norma tem por objetivo definir as caractersticas de identidade, qualidade,
apresentao, embalagem, armazenamento e transporte da farinha de mandioca,
para fins de comercializao interna.
2 DEFINIO DO PRODUTO
Entende-se por farinha de mandioca, o produto obtido de razes provenientes de
plantas da Farinha Euforbicea, gnero Manihot, submetidas a processo tecnolgico
adequado de fabricao e beneficiamento.
3 CONCEITO
Para efeito desta Norma, considera-se:
3.1 Acidez
o percentual de cidos orgnicos, encontrados na farinha de mandioca.
73
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
3.2 Amido
Grnulos translcidos, caractersticos da raiz de mandioca, constitudos de carboidratos,
sendo este a substncia bsica do produto.
3.3 Casca
Pelcula que envolve a entrecasca.
3.4 Cinza
Resduo mineral fixo, resultante da incinerao da amostra do produto.
3.5 Cilindro Central (polpa)
Raiz de mandioca desprovida da casca e entrecasca.
3.6 Cepa ou Fibra
Feixe lenhoso da raiz de mandioca, proveniente da insero (ligao) entre a raiz e o
caule da planta.
3.7 Colorao
Cor uniforme e caracterstica do produto, variando segundo a qualidade e a variedade
da planta, e a tecnologia de fabricao.
3.8 Conglomerado
Aglutinao irregular, ocasionada pela gelatinizao do amido, quando submetido
temperatura acima de 70% C, em qualquer parte do processo de fabricao da farinha
de mandioca, e que no se desfaz quando comprimido manualmente.
3.9 Desidratao
Retirada do excesso de gua da massa de mandioca.
3.10 Entrecasca
Camada protetora da raiz de mandioca, situada entre a casca e o cilindro central.
3.11 Farinha Beneficiada
Produto de granulao uniforme, obtido da triturao da farinha seca, podendo ou no
ser torrada, sofrer mudana de colorao e granulometria.
3.12 Fiapo
Fio tnue, oriundo da nervura central da raiz de mandioca, podendo ter ramificaes.
3.13 Gelatinizao
Transformao que ocorre no amido contido na massa de mandioca mida, quando
submetida a ao da temperatura acima de 70C.
3.14 Impureza
74
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Material proveniente da raiz de mandioca, tais como: cascas, cepas ou fibras, raspas,
fiapos, pontos pretos e entrecascas.
3.15 Mandioca
Nome popular da raiz da planta da famlia Euforbicea e do gnero Manihot.
3.16 Macerao
Processo utilizado para obteno da farinha dgua, onde as razes, com ou sem
casca so submersas em gua.
3.17 Matrias Estranhas
Todo material no proveniente da raiz de mandioca, tais como: partculas metlicas,
argila, areia, sujidades, insetos mortos, plos de roedores, e outros.
3.18 Odor e Sabor Estranhos
Cheiro e sabor no caractersticos do produto.
3.19 Odor e Sabor Caractersticos
Cheiro e sabor caractersticos do produto.
3.20 P
Produto amilceo resultante da fabricao ou beneficiamento da farinha de mandioca
seca, que vaza na peneira n 200.
3.21 Pontos Pretos
Resduos triturados de cascas e entrecascas da raiz de mandioca, ou as partculas da
farinha de mandioca queimada durante a secagem do produto.
3.22 Raspas
Pedaos ou fragmentos do cilindro central da raiz de mandioca mal moda.
3.23 Secagem
Desidratao artificial da massa ralada e prensada temperatura superior a 50 C.
3.24 Torrao
Desidratao artificial, tornando o produto tostado (levemente queimado ou muito
seco).
3.25 Umidade
Percentual de gua contida na amostra de farinha de mandioca, em seu estado
natural.
4 CLASSIFICAO
75
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
A farinha de mandioca ser classificada em grupo, subgrupo, classe e tipo, de acordo
com o processo tecnolgico de fabricao utilizado, sua granulometria, sua colorao
e sua qualidade, respectivamente.
4.1 Grupo
A farinha de mandioca, segundo a tecnologia de fabricao utilizada, ser classificada
em 03 (trs) grupos:
4.1.1 Farinha de Mandioca Dgua
o produto obtido das razes de mandioca sadias, devidamente limpas, maceradas,
descascadas, trituradas (modas), prensadas, desmembradas, peneiradas, secas
temperatura moderada, podendo ser novamente peneirada ou no.
4.1.2 Farinha de Mandioca Mista
o produto obtido mediante a mistura, antes da prensagem, da massa de mandioca
ralada com a massa de mandioca fermentada, na proporo de 75 a 80% da primeira
massa e 20 a 25% da segunda, de acordo com a preferncia do mercado consumidor,
seguindo aps a mistura das massas, o processo tecnolgico da farinha de mandioca
dgua.
4.1.3 Farinha de Mandioca Seca
o produto obtido das razes de mandioca sadias, devidamente limpas, descascadas,
trituradas (modas), prensadas, desbrembadas, peneiradas, secas temperatura
moderada ou alta e novamente peneirada ou no, podendo ainda ser beneficiada.
4.2 Subgrupo
A farinha de mandioca, segundo a sua granulometria, ser ordenada em subgrupos:
4.2.1 Na farinha de mandioca dgua, segundo a sua granulometria, ser ordenada
em 2 (dois) subgrupos:
4.2.1.1 Farinha Fina
Quando a farinha de mandioca ficar retida, no mximo, 30% na peneira n 10; e
4.2.1.2 Farinha Grossa
Quando a farinha de mandioca ficar retida em mais de 30% na peneira n 10.
4.2.2 Na farinha de mandioca mista, segundo a sua granulometria, ser ordenada em
2 (dois) subgrupos:
4.2.2.1 Farinha Fina
Quando a farinha de mandioca ficar retida, no mximo, 30% na peneira n 10; e
4.2.2.2 Farinha Grossa
76
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
Quando a farinha de mandioca ficar retida em mais de 30% na peneira n 10.
4.2.3 Na farinha de mandioca seca, segundo a sua granulometria, ser ordenada em
6 (seis subgrupos:
4.2.3.1 Farinha Extra Fina
Quando a farinha de mandioca vazar 100% na peneira n 10 e ficar retida no mximo
15% na peneira n 18, e apresentar mais de 3% a 25% de p.
4.2.3.2 Farinha Fina Beneficiada
Quando a farinha de mandioca vazar 100% na peneira n 10, e ficar retida no mximo
3% na peneira n 18, e apresentar no mximo, 3% de p.
4.2.3.3 Farinha Fina
Quando a farinha de mandioca vazar 100% na peneira n 10, e ficar retida mais de 3%
e at 20% na peneira n 18, e apresentar no mximo 3% de p.
4.2.3.4 Farinha Mdia
Quando a farinha de mandioca no se enquadrar em nenhum dos subgrupos anteriores
e apresentar, no mximo, 3% de p; e
4.2.3.5 Farinha Grossa
Quando a farinha de mandioca ficar retida em mais de 10% na peneira n 10 e
apresentar no mximo, 3% de p.
4.2.3.6 Farinha Bijusada
Quando a farinha de mandioca ficar retida em mais de 15% na peneira n 10, e
apresentar, no mximo, 2% de p.
4.3 Classe
A farinha de mandioca, de acordo com a sua colorao, ser ordenada em 3 (trs)
classes:
4.3.1 Farinha Branca
a farinha de cor branca, natural da prpria raiz.
4.3.2 Farinha Amarela
a farinha de cor amarela, natural da prpria rais, ou decorrente da tecnologia de
fabricao (torrao); e
4.3.3 Farinha de Outras Cores
a farinha cuja colorao no se enquadra nas cores anteriores.
4.4 Tipo
77
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
A farinha de mandioca de qualquer grupo, subgrupo e classe segundo a sua qualidade,
ser ordenada em tipos, conforme elementos contidos no quadro sinptico (Anexo I).
4.5 Abaixo do Padro
A farinha de mandioca, de qualquer grupo, subgrupo, classe e tipo, que, pelas suas
caractersticas ou atributos qualitativos, no se enquadrar em nenhum dos tipos
mencionados no Anexo I, ser classificada como Abaixo do Padro, podendo ser:
4.5.1 Comercializada como tal, desde que identificada com a expresso Abaixo do
Padro, de forma clara, precisa e ostensiva, colocada em lugar de destaque, de fcil
visualizao e de difcil remoo; e
4.5.2 Rebeneficiada, desdobrada e recomposta, para ser submetida a nova
classificao.
4.6 Desclassificao
Ser desclassificada e proibida a sua comercializao para consumo humano, a
farinha de mandioca que apresentar:
4.6.1 Mau estado de conservao, caracterizado pelo aspecto geral de fermentao
e mofo;
4.6.2 Presena de aditivo (corante), no classificado e aprovado pela legislao em
vigor, do Ministrio da Sade;
4.6.3 Odor e sabor estranhos ao produto;
4.6.4 Presena de matrias estranhas ao produto, em desacordo com a legislao em
vigor, do Ministrio da Sade;
4.6.5 Presena de substncias nocivas sade humana; e
4.6.6 Presena de insetos vivos.
4.7 Ser de competncia do Ministrio da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrria, decidir sobre o destino do produto desclassificado.
5 AMOSTRAGEM
A retirada ou extrao de amostra para classificao ser feita observando os seguintes
critrios:
5.1 Em produto ensacado a coleta ser feita por furao ou calagem, em no mnimo,
10% dos sacos que compem o lote, escolhidos ao acaso, sempre representando a
expresso mdia do lote, numa quantidade mnima de 30 gramas de cada saco;
78
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
5.2 Em produto a granel - a coleta ser feita em diferentes ponto do lote estocado, na
relao de 30 kg de amostra por tonelada ou frao; e
5.3 Em produto empacotado - a coleta ser em 1% do nmero total dos pacotes que
compem o lote.
6 HOMOGENEIZAO E ACONDICIONAMENTO DAS AMOSTRAS
6.1 As amostras extradas sero homogeneizadas, quarteadas no local da amostragem
e acondicionados em embalagens, plsticas, em no mnimo 4 (quatro) alquotas, com
o peso mnimo de 1 kg (um quilograma) cada, devidamente identificadas, lacradas e
autenticadas.
6.2 Ser entregue 1 (uma) alquota para o interessado, 3 (trs) alquotas ficaro com
o rgo de classificao e o restante da amostra coletada ser obrigatoriamente
recolocada no lote ou devolvida ao proprietrio do produto.
7 APRESENTAO
A farinha de mandioca, destinada a comercializao, poder ser apresentada: a granel,
ensacada e empacotada.
8 EMBALAGEM E MARCAO
8.1 Embalagem
A embalagem utilizada no acondicionamento da farinha de mandioca ensacada poder
ser de algodo branco ou similar, papel, plstico ou qualquer outro material que tenha
sido previamente aprovado pelo Ministrio da Agricultura, do Abastecimento e da
Reforma Agrria.
8.1.1 Ser obrigatrio que a embalagem seja nova e resistente, e que permita a
conservao das caractersticas do produto.
8.1.2 O material utilizado para a confeco da embalagem para farinha de mandioca,
destinada comercializao a varejo, ser transparente e incolor, para permitir a
perfeita visualizao do produto, podendo ser de outro material, desde que tenha sido
aprovado pelo Ministrio da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrria.
8.1.3 A farinha de mandioca, quando comercializada no atacado ou varejo, dever
ser acondicionada em sacos ou pacotes, cuja capacidade esteja de acordo com a
legislao em vigor do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizao e Qualidade
Industrial - INMETRO.
79
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
8.1.4 Dentro de um mesmo lote, ser obrigatrio que todas as embalagens sejam do
mesmo material e tenham idntica capacidade de acondicionamento.
8.2 Marcao
A marcao nas embalagens da farinha de mandioca deve assegurar informaes
corretas, claras, precisas e ostensivas, em lngua portuguesa, referentes s suas
especificaes quantitativas e qualitativas, retiradas do Certificado de Classificao,
alm dos dados de identificao da empresa embaladora ou responsvel pelo
produto.
8.2.1 Ao nvel de atacado, a marcao da embalagem dever trazer, no mnimo,
as seguintes indicaes: nmero do lote, grupo, subgrupo, classe, tipo, safra, peso
lquido do produto, identificao do responsvel pelo produto (nome ou razo social,
CGC, endereo e nmero de registro do estabelecimento no MAARA), impressas
originalmente quando da confeco da embalagem, no aceitando-se marcao
complementar por etiquetas adesivas ou carimbo.
8.2.2 Ao nvel de varejo, a marcao da embalagem dever trazer as mesmas
indicaes constantes do subitem anterior, excetuando a safra do produto.
8.2.3 No caso especfico da comercializao da farinha de mandioca a granel ou em
conchas, o produto exposto dever ser acondicionado em recipientes adequados e
identificados, com no mnimo, as seguintes indicaes: grupo, subgrupo, classe e
tipo.
8.2.4 No ser permitido, na marcao das embalagens, o emprego de dizeres,
gravuras ou desenhos que induzam a erros ou equvoco quanto a origem geogrfica,
qualidade e quantidade do produto.
8.2.5 Os indicativos de grupo, subgrupo, classe e tipo, utilizados na marcao sero
gravados em cores contrastantes s do produto ou fundo das embalagens, quando
for o caso, em caracteres do mesmo tamanho, segundo as dimenses especificadas
no quadro abaixo:
QUADRO
8.2.6 A proporo entre a altura e a largura das letras e nmeros, no pode exceder a
3x1 mm. Exemplo: se a altura for 3 mm, a largura deve ser 1mm.
9 ARMAZENAMENTO
Os depsitos para armazenamento da farinha de mandioca e os meios para o seu
transporte devem oferecer plena segurana e condies tcnicas imprescindveis as
exigncias da legislao em vigor.
80
ESTUDOS DE MERCADO SEBRAE ESPM
10 CERTIFICADO DE CLASSIFICAO
O Certificado de Classificao da farinha de mandioca ser emitido pelo rgo
Oficial de Classificao devidamente credenciado pelo Ministrio da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrria, em modelo oficial, de acordo com a legislao
vigente.
10.1 O prazo de validade do Certificado de Classificao para a farinha de mandioca,
ser de (90) noventa dias, contados a partir da data de sua emisso.
10.2 No Certificado de Classificao devem constar as informaes padronizadas, os
resultados das anlises dos requisitos de qualidade, alm das seguintes indicaes:
10.2.1 Motivos que determinaram a classificao do produto como Abaixo do
Padro;
10.2.2 Motivos que determinaram a desclassificao do produto;
10.2.3 Nome do tcnico responsvel pelas anlises, bem como o seu nmero de
inscrio no Conselho Regional.
11 FRAUDE
Ser considerada fraude toda alterao dolosa de qualquer ordem ou natureza,
praticada no produto, na classificao, na marcao, no acondicionamento, no
transporte e na armazenagem, bem como nos documentos de qualidade do produto,
conforme normas em vigor.
12 DISPOSIES GERAIS
proibido o comrcio de farinha de mandioca, em desacordo com esta Norma.
12.1 Ser de competncia exclusiva do rgo Tcnico do Ministrio da Agricultura, do
Abastecimento e da Reforma Agrria, resolver os casos omissos porventura surgidos
na utilizao da presente Norma.
81
Você também pode gostar
- Módulo 1 - Introdução À GestãoDocumento31 páginasMódulo 1 - Introdução À Gestãotsunami700892% (12)
- Aula 05 e 06 Terapia e Farmacologia Antiparasitária Parte 01 e 02 PDFDocumento60 páginasAula 05 e 06 Terapia e Farmacologia Antiparasitária Parte 01 e 02 PDFAdriano Gonzaga BragaAinda não há avaliações
- CPRM, 2017 - Projeto Geologia Da Região de Palmas PDFDocumento485 páginasCPRM, 2017 - Projeto Geologia Da Região de Palmas PDFRandrei Neves100% (2)
- Tutorial para Morfometria GeométricaDocumento10 páginasTutorial para Morfometria GeométricaBotanicus OrchisAinda não há avaliações
- 2 - BS32F BotanicaSistematica PDFDocumento3 páginas2 - BS32F BotanicaSistematica PDFMarcelo Alberto RechAinda não há avaliações
- Sistema Tegumentar Dos VertebradosDocumento40 páginasSistema Tegumentar Dos Vertebradosstarbio5139Ainda não há avaliações
- Livro de Cultura de Tecidos PDFDocumento95 páginasLivro de Cultura de Tecidos PDFMateus VitorAinda não há avaliações
- Resenha Da Obra "Constituinte Burguesa" (Abade de Sieyés)Documento2 páginasResenha Da Obra "Constituinte Burguesa" (Abade de Sieyés)Heltah SkeltahAinda não há avaliações
- Ppra Escritorio de TopografiaDocumento26 páginasPpra Escritorio de TopografiaVanderley Mendes50% (2)
- Planejamento Conservacionista FINAL - MadaDocumento12 páginasPlanejamento Conservacionista FINAL - MadaFernando Wilson SimãoAinda não há avaliações
- CruzamentoDocumento4 páginasCruzamentolucildalimaAinda não há avaliações
- Metabolismo de Carboidratos Nos RuminantesDocumento42 páginasMetabolismo de Carboidratos Nos RuminantesKyone OliveiraAinda não há avaliações
- CruzamentoDocumento36 páginasCruzamentoMariana Ciríaco100% (1)
- FOTOSSINTESEDocumento40 páginasFOTOSSINTESEKaren ZanosoAinda não há avaliações
- Metodos ImunoquimicosDocumento10 páginasMetodos ImunoquimicosRicardo SilvérioAinda não há avaliações
- Resumo - Proteina para RuminantesDocumento10 páginasResumo - Proteina para RuminantesEden GabrielAinda não há avaliações
- CAP02Documento201 páginasCAP02adrianojosedeoliveira100% (1)
- Exercícios - Platelmintos - Com - Gabarito - 2010 ProvaDocumento18 páginasExercícios - Platelmintos - Com - Gabarito - 2010 Provaangel ber0% (1)
- Melhoramento Animal Aplicado I PDFDocumento2 páginasMelhoramento Animal Aplicado I PDFplfs1974Ainda não há avaliações
- Monensina Sodica e Virginiamicina para Bovinos de CorteDocumento25 páginasMonensina Sodica e Virginiamicina para Bovinos de CortePedro SantosAinda não há avaliações
- Nutrição de RuminantesDocumento31 páginasNutrição de RuminantesVanessa IshikawaAinda não há avaliações
- Aula Teorica Ovos 2017Documento22 páginasAula Teorica Ovos 2017Hugo da CruzAinda não há avaliações
- 1.apostila - HIDROLOGIA UNIVAG 5revisão PDFDocumento75 páginas1.apostila - HIDROLOGIA UNIVAG 5revisão PDFBIANCARDINEAinda não há avaliações
- Portaria 3204 Biossegurança para Laboratórios de Saúde Pública PDFDocumento8 páginasPortaria 3204 Biossegurança para Laboratórios de Saúde Pública PDFjessicasjsAinda não há avaliações
- Organização de Empresas - Trabalho em Grupo IDocumento15 páginasOrganização de Empresas - Trabalho em Grupo IYannick César Marcelino BotãoAinda não há avaliações
- Resumo - CitologiaDocumento3 páginasResumo - CitologiaJimmy Lima100% (1)
- Eng AgronomoDocumento9 páginasEng AgronomoMário DomingosAinda não há avaliações
- Aula 10 - Marcadores MolecularesDocumento44 páginasAula 10 - Marcadores MolecularesPaulo J Oliveira SynAinda não há avaliações
- Melhoramento Genetico Animal No BrasilDocumento30 páginasMelhoramento Genetico Animal No BrasilDiegoPagungAmbrosiniAinda não há avaliações
- AlumitermiaDocumento14 páginasAlumitermiagarbazzaAinda não há avaliações
- Atoxoplasmose em Trinca-FerrosDocumento34 páginasAtoxoplasmose em Trinca-FerrosAyisa RodriguesAinda não há avaliações
- Aula Sistema de Produção de Bovinos de CorteDocumento64 páginasAula Sistema de Produção de Bovinos de Cortea097792Ainda não há avaliações
- Aula 1 - Usos Da ÁguaDocumento25 páginasAula 1 - Usos Da ÁguaDaniel WilliamAinda não há avaliações
- Bioeletricidade. Bioeletrogênese. Atividade Elétrica Na Célula AnimalDocumento61 páginasBioeletricidade. Bioeletrogênese. Atividade Elétrica Na Célula AnimalRodrigo de Oliveira ReisAinda não há avaliações
- Citologia e HistologiaDocumento16 páginasCitologia e HistologiaLuisa AmeduriAinda não há avaliações
- Aula RFLPDocumento33 páginasAula RFLPJorge JinAinda não há avaliações
- Introdução A MetazoaDocumento24 páginasIntrodução A MetazoaJeane AlmeidaAinda não há avaliações
- Microsoft PowerPoint - Aula 1 - Introduà à o e Fisiologia Das Membranas CelularesDocumento21 páginasMicrosoft PowerPoint - Aula 1 - Introduà à o e Fisiologia Das Membranas CelularesFelipe de lima rosa100% (1)
- 6 - SeafDocumento36 páginas6 - SeafAdilson Teixeira FilhoAinda não há avaliações
- Métodos Analíticos Utilizados para A Determinação de LipídiosDocumento18 páginasMétodos Analíticos Utilizados para A Determinação de LipídiosRenan Guilherme de Oliveira GuihAinda não há avaliações
- Biotecnologia e Suas AplicaçõesDocumento11 páginasBiotecnologia e Suas Aplicaçõesayrtonmacedo100% (1)
- Aplicação de Marcadores Moleculares Na AgriculturaDocumento37 páginasAplicação de Marcadores Moleculares Na Agriculturaali_piolho0% (1)
- Robotica Cap8Documento68 páginasRobotica Cap8Maralto MaraltooAinda não há avaliações
- Aula Imunidade No Feto e No Recém-NascidoDocumento9 páginasAula Imunidade No Feto e No Recém-Nascidoeduardo sousaAinda não há avaliações
- Teoria Dos Jogos Aplicada Aos Estudos Da Pesca e Dos Recursos PesqueirosDocumento33 páginasTeoria Dos Jogos Aplicada Aos Estudos Da Pesca e Dos Recursos PesqueirosSamadhi Gil100% (1)
- Agnatha e GnatostomadosDocumento22 páginasAgnatha e GnatostomadosNubiaAinda não há avaliações
- Avanço Nutricional AvesDocumento16 páginasAvanço Nutricional AvesAllana Ignacio100% (1)
- Fisiologia Animal ComparadaDocumento135 páginasFisiologia Animal ComparadaCaroline Silva Alves100% (2)
- Manual Do Laboratório de QuímicaDocumento9 páginasManual Do Laboratório de QuímicaFabiana MachadoAinda não há avaliações
- Espermatófitas - IFSP - (Fernando Santiago Dos Santos) PDFDocumento47 páginasEspermatófitas - IFSP - (Fernando Santiago Dos Santos) PDFheberbensi100% (1)
- Curral de Manejo Racional - Uma Abordagem ErgonômicaDocumento7 páginasCurral de Manejo Racional - Uma Abordagem ErgonômicaPaolo Salvioni100% (1)
- Fertilidade Do SoloDocumento172 páginasFertilidade Do SoloLeyser R. OliveiraAinda não há avaliações
- Técnico em Pesca e AquiculturaDocumento74 páginasTécnico em Pesca e AquiculturaRoberto LimaAinda não há avaliações
- Guia de Produção Orgânica PDFDocumento66 páginasGuia de Produção Orgânica PDFWashington Moreira Dos SantosAinda não há avaliações
- Apresentação Biofísica Da RespiraçãoDocumento18 páginasApresentação Biofísica Da RespiraçãobrunolarreAinda não há avaliações
- 6 - Plantas IIDocumento18 páginas6 - Plantas IIVítorFulgêncioAinda não há avaliações
- Aula Disponibilidade e Qualidade Da AguaDocumento23 páginasAula Disponibilidade e Qualidade Da AguaEmerson Silva100% (1)
- Nanotecnologia aplicada à produção agrícola: uma análise acerca dos aspectos sociais e sustentáveis no âmbito brasileiroNo EverandNanotecnologia aplicada à produção agrícola: uma análise acerca dos aspectos sociais e sustentáveis no âmbito brasileiroAinda não há avaliações
- Aplicação de lógica fuzzy para a previsão de grãos no estado do Mato Grosso do SulNo EverandAplicação de lógica fuzzy para a previsão de grãos no estado do Mato Grosso do SulAinda não há avaliações
- Engenharia De Tecidos: Restaurar, manter ou melhorar tecidos danificados ou órgãos inteirosNo EverandEngenharia De Tecidos: Restaurar, manter ou melhorar tecidos danificados ou órgãos inteirosAinda não há avaliações
- Administração E Vendas Via E-commerce:No EverandAdministração E Vendas Via E-commerce:Ainda não há avaliações
- Sistemas de Informação e Estudos de Mercado PDFDocumento36 páginasSistemas de Informação e Estudos de Mercado PDFcarlasantossilva103Ainda não há avaliações
- Pesquisa MercadológicaDocumento16 páginasPesquisa MercadológicaWallace OliveiraAinda não há avaliações
- 28-29.07.2019 Bte 28 86 BteDocumento123 páginas28-29.07.2019 Bte 28 86 BtePauloPiresAinda não há avaliações
- Estatuto SPEF SPIDocumento12 páginasEstatuto SPEF SPISalvador NanvonamuquitxoAinda não há avaliações
- Modelo de Estatuto Da Associacao Dos Produtores RuraisDocumento9 páginasModelo de Estatuto Da Associacao Dos Produtores RuraiskhysthyanneAinda não há avaliações
- Regulamento Mercado Municipal Alteracoes PropostasDocumento39 páginasRegulamento Mercado Municipal Alteracoes PropostasBeatriz TorresAinda não há avaliações
- Poliarquia em 3D WanderleyDocumento46 páginasPoliarquia em 3D WanderleyJowfullAinda não há avaliações
- Codigo de Ética DERMOPIGMENTAÇÃODocumento11 páginasCodigo de Ética DERMOPIGMENTAÇÃOFABDEC - Federação Brasileira de DermopigmentaçãoAinda não há avaliações
- Caio Zanin - A História Da Indústria Da Carne e o Pensamento Ecológico MarxistaDocumento21 páginasCaio Zanin - A História Da Indústria Da Carne e o Pensamento Ecológico MarxistaCaio ZaninAinda não há avaliações
- Nota Explicativa Classificador Economico PDFDocumento21 páginasNota Explicativa Classificador Economico PDFAngela Maria CoelhoAinda não há avaliações
- Prova 1 Terceiro SetorDocumento5 páginasProva 1 Terceiro SetorJéssica PassosAinda não há avaliações
- Ammann - Ideologia Do Desenvolvimento de ComunidadeDocumento23 páginasAmmann - Ideologia Do Desenvolvimento de ComunidadeDéboraAinda não há avaliações
- Marques Et Al. (2009)Documento5 páginasMarques Et Al. (2009)Ana MoraisAinda não há avaliações
- Edital 02 2022 de Seleção Advogado A PROGRAMA FEDERALDocumento5 páginasEdital 02 2022 de Seleção Advogado A PROGRAMA FEDERALAntonio JairoAinda não há avaliações
- Apostila Sistema de Aviação CivilDocumento53 páginasApostila Sistema de Aviação CivilDimas Guido100% (2)
- Organização e Desenvolvimento Desportivo - MEDocumento74 páginasOrganização e Desenvolvimento Desportivo - MEalcochetedesportoAinda não há avaliações
- Cfo 2016 ImbrosioDocumento57 páginasCfo 2016 ImbrosioMatheus BañosAinda não há avaliações
- Analise Da Organizacao FormalDocumento15 páginasAnalise Da Organizacao FormalFernando Ribeiro JúniorAinda não há avaliações
- Artesanatos - MANUAL DE PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOSDocumento16 páginasArtesanatos - MANUAL DE PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS E EVENTOSrenewedAinda não há avaliações
- DIREITOS FUNDAMENTAIS EM ESPÉCIE - À LIBERDADE - LerDocumento7 páginasDIREITOS FUNDAMENTAIS EM ESPÉCIE - À LIBERDADE - LerRichard MacedoAinda não há avaliações
- Revisão Dos Conceitos de Autoridade, Autorização, Permissão e Norma Juridica - Goffredo TelesDocumento21 páginasRevisão Dos Conceitos de Autoridade, Autorização, Permissão e Norma Juridica - Goffredo TelesAudy EstevesAinda não há avaliações
- Cespe Cebraspe 2022 Inss Tecnico Do Seguro Social ProvaDocumento6 páginasCespe Cebraspe 2022 Inss Tecnico Do Seguro Social ProvaQsxwdcnmwnw QsxwdcAinda não há avaliações
- Aguiar, K. - Economia Dos Setores PopularesDocumento174 páginasAguiar, K. - Economia Dos Setores PopularesAnelise LusserAinda não há avaliações
- 1.MA - Contabilidade Aplicada Ao Terceiro SetorDocumento75 páginas1.MA - Contabilidade Aplicada Ao Terceiro SetorAline Sousa100% (1)
- OSCCDocumento114 páginasOSCCgersoneunimAinda não há avaliações
- Estudo Rede To Infancia Jvlle Maio 2008Documento119 páginasEstudo Rede To Infancia Jvlle Maio 2008Lilian MirandaAinda não há avaliações
- A Regulação de Agrotóxicos No Brasil - EconomiaDocumento22 páginasA Regulação de Agrotóxicos No Brasil - EconomiaTarcisioTeixeiraAinda não há avaliações
- Regimento Escolar Da Escola Municipal Carlos Alberto LopesDocumento18 páginasRegimento Escolar Da Escola Municipal Carlos Alberto LopesEM Carlos Alberto LopesAinda não há avaliações
- Bte47 2022Documento132 páginasBte47 2022Dora SilvérioAinda não há avaliações