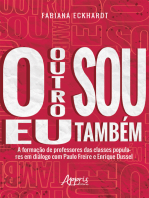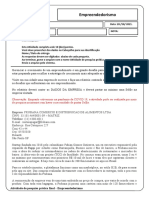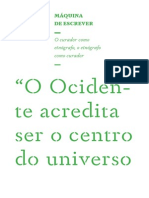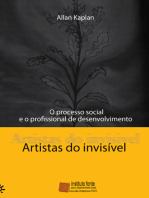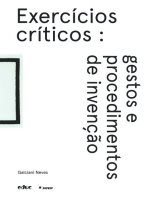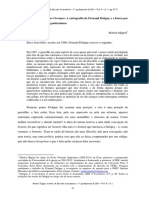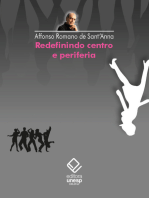Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Vida Na Berlinda Subjetividade Lixo A Luxo
Vida Na Berlinda Subjetividade Lixo A Luxo
Enviado por
LiquenesyguirnaldasTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Vida Na Berlinda Subjetividade Lixo A Luxo
Vida Na Berlinda Subjetividade Lixo A Luxo
Enviado por
LiquenesyguirnaldasDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A vida na berlinda 1
Suely Rolnik
A vida est na berlinda. Mais precisamente o que est na berlinda a potncia da
vida enquanto fora de inveno, aquilo que suscitado quando se produz um certo tipo de
paradoxo entre dois planos da subjetividade: de um lado, visvel, o mapa das formas de
vida vigentes; de outro lado, invisvel, o diagrama flexvel das sensaes que percorrem o
corpo por sua imerso na infinidade varivel de fluxos de que so feitos os meios em que
vivemos. O paradoxo acontece quando a mudana no diagrama intensivo atinge um certo
limiar, a partir do qual inviabiliza-se sua figurao atravs das formas de existncia atuais.
Tais formas tornam-se ento um obstculo para integrar as conexes que provocaram a
emergncia de um novo estado sensvel e, com isso, deixam de ser condutoras de processo,
esvaziam-se de vitalidade, perdem sentido. O paradoxo entre esses dois planos da vida
subjetiva pressiona os contornos das formas vigentes e fora a subjetividade a redesenhlos: neste contexto que mobiliza-se a fora de inveno. Uma tenso se instala entre o
movimento
de tomada de consistncia de uma nova pele
e a permanncia da pele
existente, necessria at que o processo de criao se complete. O paradoxo entre esses dois
vetores, a fora de inveno que ele mobiliza e a tenso que disto decorre so portanto
prprios da vida em sua potncia de variao: eles so constitutivos do processo vital de
1
Publicado in Cocco, Giuseppe (org.). O trabalho da multido: Imprio e Resistncia vida na Berlinda.
Editora Griphus, RJ, 2002; pp.109-120 e in Trpico. Idias de Norte a Sul. 25/07/2002
http://www.uol.com.br/tropico/ Conferncia proferida nos colquios: Theaters of Life, Performance Studies
International (PSi), Department of Performance Studies, New York University et Hemispheric Institute for
Performance Studies (Nova York, 12/04/02); Theater der Welt 2002 e Bundeszentrale fr politische Bildung
(Colonia, 27/06/02); Global Dance 2002 Aesthetics of Diversity, World Dance Alliance Festival (Dsseldorf,
26/08/02); IV Simpsio Internacional de Filosofia: Nietzsche e Deleuze Brbaros e Civilizados, Laboratrio
de Estudos e Pesquisas da Subjetividade (LEPS-UFC) (Fortaleza, 04/11/02); Soberanias, Espao Brasileiro de
Estudos Psicanalticos. Espao Cultural de Furnas (Rio de Janeiro, 24 a 27 abril 2002); O trabalho da
Multido. Imprio, poder e resistncia, organizado por Labtec/EPPG/UFRJ, Programa IDEA/ECO/UFRJ,
Museu da Repblica (Rio de Janeiro, 20/5/02).
.
individuao que vai organizando e estabilizando novos contornos, uma nova pele,
enquanto desestabiliza e desfaz outros.
No capitalismo mundial integrado, como o chama Guattari, esse processo
intensifica-se brutalmente. Para comear, na existncia globalizada que ele instaura, os
fluxos a que est exposta a subjetividade em qualquer ponto do planeta multiplicam-se cada
vez mais e variam numa velocidade cada vez mais espantosa. Isso acelera o processo de
engendramento de novas formas e encurta o prazo de validade das formas em uso as quais
tornam-se obsoletas antes mesmo que se tenha tido tempo de absorv-las. A conseqncia
que vive-se constantemente em estado de tenso, beira da exasperao, o que atia e
fomenta a fora de inveno. Para completar, esse processo intensifica-se mais ainda pelo
fato de que o capital no apenas se nutre dessa tenso agravada e dessa fora de inveno
turbinada, mas ambas constituem sua principal fonte de valor, seu mais rentvel
investimento. Vejamos como.
A fora de inveno turbinada, o capital a captura a servio da criao de esferas de
mercado: territrios-padro cuja formao dissociada do processo, substrato vital que
havia convocado aquela fora, e passa a ter como princpio organizador a produo de
mais-valia, que sobrecodifica o processo. Essa base do aparelho de homogeneizao que
tem o nome de consenso, necessrio para fazer funcionar o mercado. Todos os elementos
que constituem esses territrios de existncia so postos venda, um kit de mercadorias de
toda espcie de que depende seu funcionamento: objetos, mas tambm, subjetividades
modos de habitar, vestir, relacionar-se, pensar, imaginar... em suma, mapas de formas de
existncia que se produzem como verdadeiras identidades prt--porter 2 facilmente
assimilveis, em relao s quais somos simultaneamente produtores-espectadoresconsumidores. O kit vem acompanhado de uma poderosa operao de marketing que faz
acreditar que identificar-se com essas estpidas imagens e consumi-las imprescindvel
para que se consiga reconfigurar um territrio, e mais do que isso, que este o canal para
pertencer ao disputadssimo territrio de uma subjetividade-elite. Isto no pouca coisa,
Cf. Rolnik, Suely, Toxicomanes didentit, in Documenta X, 100 Tage - 100 Gste (Kassel, 1997),
www.documenta.de ou http://www.universes-in-universe.de/doc/e_ver.htm - 24k e Viciados em identidade:
subjetividade em tempo de globalizao in Cultura e subjetividade. Saberes Nmades, org. Daniel Lins
(Papirus, Campinas, 1997).
pois fora desse territrio corre-se o risco de morte social por excluso, humilhao,
misria, quando no por morte concreta como uma clula morta do corpo coletivo.
Fabricar esses dois tipos de territrio a tarefa bsica da mdia, ou melhor, fabricar
o territrio, pois s h um, e demarc-lo insistentemente do resto, o esgoto do mundo
onde sobrevive no limite tudo o que est fora dele. Imagens dessa demarcao saturam o
visvel, dia e noite, num verdadeiro assdio cerebral: do lado de dentro, o glamour das
identidades prt--porter de uma subjetividade-luxo; do lado de fora, a abjeo das
subjetividades-lixo em seus cenrios de horror feitos de guerra, favela, trfico, seqestro,
fila de hospital, crianas desnutridas, gente sem teto, sem terra, sem camisa, sem papel
boat people vagando no limbo sem lugar onde ancorar. A nica permeabilidade entre os
dois campos , do lado de dentro, o perigo de cair para fora, na cloaca, as vezes
irreversivelmente, que assombra a subjetividade e a deixa permanentemente agitada e
ansiosa numa busca desesperada por reconhecimento; do lado de fora, a chance quase
impossvel de passar para dentro, se ganhar a taa do glamour, como os sortudos que
conseguem emprego na Casa dos Artistas ou entre os Big Brothers 3 , realidade tornada
show, competio tornada espetculo cujo vencedor no por acaso o mais abrutalhado de
todos. to rara e to cobiada a possibilidade de passar para dentro, que a imagem dessa
passagem consegue manter ligados no grand finale da disputa, na cidade de So Paulo por
exemplo, 76 de cada 100 televisores existentes. Ela captura toda a ateno, a imaginao, o
sonho e o desejo desses milhares de espectadores e os mantm como que hipnotizados pela
telinha sob o jugo do cenrio pattico que ela coloca no ar.
O xito de audincia nesse momento preciso da passagem de uma subjetividadelixo para uma subjetividade-luxo indica o prximo passo no aperfeioamento da estratgia:
numa operao milionria que associa televiso e indstria fonogrfica cria-se um novo
programa, muito oportunamente batizado de Fama, cujo foco ser a prpria passagem 4 . Os
personagens que habitaro a casa/cela/cena cuja crnica cotidiana ficar exposta ao
espectador so moradores da cloaca das subjetividades-lixo portadores de uma fora
3
Reality Shows da televiso brasileira que tem ndices de audincia elevadssimos e ocupam espaos
significativos nas pginas na imprensa.
4
Fama um Reality show em novo formato, em que os participantes, todos com alguma espcie de carreira
artstica incipiente, so submetidos a um treinamento intensivo para se tornarem estrelas da mdia. o dia a
dia desse treinamento o que os telespectadores acompanham. O vencedor, ou seja, aquele que resta aps todos
qualquer que possa ser utilizada como matria-prima para a fabricao de um cantor de
sucesso. O que ser desvelado o dia a dia desse laboratrio de metamorfose para a
produo de um clone de subjetividade-luxo 5 timbre de voz, forma de falar, postura
corporal, etc, minuciosamente remodelados por esse misto tecnolgico de Big Brother e
Pigmaleo eletrnico. Uma subjetividade totalmente entregue sua reconfigurao segundo
uma identidade prt--porter e uma intimidade reduzida aos bastidores dessa entrega
constituem o modo de ser que se oferece como exemplar para o espectador. Processo de
identificao que refora sua adeso cega mquina capitalstica de sobrecodificao do
processo vital. Como diz cinicamente uma das eminncias pardas da bem sucedida TV
Globo, descamisado uma frmula que funciona, d retorno 6 . O ndice de audincia de
um programa garantia de retorno no s por vender os produtos a ele associados e
tambm com isso aumentar o preo do minuto publicitrio, essa apenas sua faceta mais
visvel e at a mais inocente. Bem mais importante do que isso que o alto ndice de
ateno e, portanto, de potencial de identificao que um ndice de audincia implica,
alimenta o funcionamento dessa mquina infernal de captura e sobrecodificao da
subjetividade que se tornou uma das principais engrenagens, seno a principal, do
capitalismo contemporneo.
Afirmei acima que o Capital intensifica e se nutre no s da fora de inveno
turbinada, mas igualmente do estado de tenso que decorre da desterritorializao em
excesso de velocidade. Como se d isso? A tenso cria um ambiente propcio para o
assdio da mdia com seus territrios-padro-mercadoria que vendem apaziguamento
instantneo pela rpida reconfigurao prometida. Operao que injeta nessa subjetividade
fragilizada doses e mais doses de iluso de que a tenso pode apaziguar-se. Isso a mantm
alienada do processo vital de individuao que pede passagem, impedida de fazer o
aprendizado do desassossego, decorrncia inelutvel da presso desse processo tambm
inelutvel, seja ele acelerado ou no. Em outras palavras, as identidades prt--porter so
os demais terem sido eliminados da casa, e portanto de cena, tem sua carreira garantida, j previamente
articulada.
5
Cf. Rolnik, Suely, Despachos at the museum: Who knows what may happen... e Despachos no Museu:
sabe-se l o que vai acontecer... in The Quiet in the Land. Evereday Life, Contemporary Art and Projeto Ax;
A Quietude da Terra. Vida Cotidiana, Arte Contempornea e Projeto Ax, org. France Morin, Museu de Arte
Moderna da Bahia (Salvador, 2000) e in Stretcher http://www.stretcher.org/essays/suely/despachos.html
(San Francisco, 2001).
uma espcie de droga pesada que desconecta a subjetividade do processo vital e anestesia a
tenso, criando uma dependncia brutal verdadeira toxicomania muito difcil de ser
combatida, talvez a mais difcil de todas. Essa subjetividade desterritorializada,
desconectada de seu substrato vital, com freqncia tomada pela fissura da abstinncia de
formas para um contorno de si e de relao com o outro, que a lana angustiada numa
corrida insana atrs de suas pequenas doses de iluso de pertencimento. Na vertigem da
velocidade cada vez maior desse processo, sobra cada vez menos chances de reencontrar as
intensidades do vivente, escapar dessa dissociao. No d para parar de entregar-se ao
assdio non-stop dos estmulos sob pena de deixar de existir e cair na vala das
subjetividades-lixo. O medo passa a comandar a cena.
Nesse regime, no entanto, o aumento de tenso e a intensificao da fora de
inveno no favorecem a construo de territrios singulares em consonncia com o que
pede o processo vital, como se poderia supor. E isso no porque a potncia de criao seja
demonizada como acontecia at os anos 1970; pelo contrrio, a partir dos anos 1980 do
neoliberalismo triunfante, essa fora passa a ser seduzida, celebrada, sustentada e, como
vimos, at turbinada pelo capital, mas para fazer dela um uso perverso, ou seja, cafetin-la
a servio de seus interesses. Fora de inveno capturada e vida como processo,
sobrecodificada, so o combustvel de luxo do capitalismo mundial contemporneo, seu
protoplasma.
Se esse regime alimenta-se de fora de criao, evidente que a arte no escapa dele
e, mais do que isso, ela certamente um de seus principais mananciais. Como fica ento a
arte nesse cenrio? A captura da criao pelo capital se instalou igualmente na arte, como
no conjunto da vida social, de forma mais assustadora ainda. A arte vem sendo cada vez
mais instrumentalizada pelo mercado, o que contribui para reiterar a fetichizao de seus
produtos 7 . O modo mais bvio de instrumentalizao so as mega-exposies onde
6
Declarao de Jos Bonifcio de Oliveira Sobrinho, o Boni, citada pela Revista da Folha de 7 de abril de
2002.
7
No caso especfico do Brasil essa tendncia favorecida pelo Estado que declinou em grande parte sua
responsabilidade em relao cultura para entreg-la ao setor privado. Como se no bastasse, o Estado criou
condies para reduzir praticamente a zero o custo do investimento em arte, atravs de uma lei que permite
deduz-lo dos impostos e pag-lo portanto com dinheiro pblico. Resultado, a cultura continua sendo
indiretamente bancada pelo Estado, mas instrumentalizada pelo capital privado, integralmente merc de seus
interesses.
pratiques artistiques se desconectam integralmente do processo vital e tornam-se produtos
comercializveis, bens de consumo da indstria do fast-food cultural, avaliados
exclusivamente pelas catracas e o espao que ocupam na mdia. Mas no somente como
produo de obras/mercadorias que a arte instrumentalizada pelo capital, talvez esse seja
inclusive seu uso menos rentvel e at o mais inofensivo. Outros usos que vem sendo
amplamente praticados so mais perversos e certamente mais rentveis.
A subjetividade-elite ganha um plus de valor como identidade prt--porter quando
se trata de imagens daqueles que fazem a cena cultural, que inclui evidentemente o seleto
grupo de VIPS que freqentam seus sales mundanos. Este um territrio-padro de
altssima desejabilidade, com grande poder de seduo e portanto de suscitar identificao,
at por parte dos prprios artistas que tendem a entregar-se captura de sua fora de
inveno. Muitos artistas inclusive, j criam para ocupar essa cena, oferecendo-se
voluptuosamente ao sacrifcio perverso, numa espcie de auto-colonizao.
Mas no s por essa via que a glamurizao da cultura rende: a arte tem sido mais
e mais investida como instrumento de estratgias de marketing empresarial ou turstico,
vinculado muitas vezes lavagem enobrecedora de capital ilegalmente acumulado. Basta
associar um produto artstico suficientemente glamurizado a um logotipo de empresa, de
empresrio ou at de cidade, para que o logo se impregne automaticamente de sua aura.
Isso gera uma mais valia de glamour e de imagem politicamente correta que mobiliza
crena e identificao que tornam empresa, empresrio e cidade mais atraentes no s para
o consumo de seus produtos (que no caso da cidade o turismo e seus desdobramentos
comercias), mas tambm para o investimento dos capitais que sobrevoam a cena
multinacional cata das melhores oportunidades onde aterrissar e ali ficar enquanto render.
Nesse contexto, no importa que obras sejam invendveis, pois essas outras formas
de investimento na arte so nitidamente mais sutis e compensadores. Por isso ingnuo
continuar propondo, como no sculo XX, estratgias que impeam a reificao do objeto de
arte enquanto mercadoria. que o capital no s j incorporou essa proposta, abrindo
espaos para a criao de objetos invendveis (como instalaes, performances, etc), mas
foi mais longe na inteligncia de estratgias para reduzir as pratiques artistiques a seu valor
de troca, para delas extrair mais-valia e esvazi-las de seu valor de uso, ou seja de seu valor
vital. Nessa nova ordem, o artstico no s tornou-se o vendvel, mas tambm e
principalmente aquilo que ajuda a vender ou a se vender.
Assim descrita, a situao parece apocalptica. No entanto, a perverso no assim
to tiranicamente poderosa. Se o capitalismo contemporneo atiou a fora de inveno ao
faz-la trabalhar a servio da acumulao de mais-valia, em seu avesso a mobilizao
dessa fora no conjunto da vida social criou as condies para um poder de afirmao da
vida como potncia de variao sem medida de comparao com outros perodos da
histria uma ambigidade constitutiva do capitalismo contemporneo, seu ponto
vulnervel. Pela brecha dessa vulnerabilidade vem se avolumando a construo de outras
cenas, regida por outros princpios, num movimento que escova a contrapelo essa situao
perversa: um povo que falta, como o nomeia Gilles Deleuze, ganha contorno; agitam-se
as foras heterogneas, acentradas e centrfugas da multido, como o nomeia Toni Negri.
Redes, s vezes minsculas, s vezes maiores, efmeras ou duradouras, que se formam
entre aqueles que pressionados pelo intolervel, decidem simplesmente desertar esse
regime. Numa espcie de devir-animal, comea-se a cultivar a habilidade para farejar os
signos de intensidades que pedem passagem, primeira circunscrio de um diagrama
intensivo. Coloca-se a fora de inveno a servio da criao de territrios orientada por
esse diagrama, para inseri-los na cartografia atual da existncia. Um vasto rizoma de
geometria varivel traado por esse modo etolgico de construo de territrio amplia-se a
cada dia.
Que funcionamento nesse modo de subjetivao dominante desmontado quando a
fora de inveno consegue recolocar-se a servio da vida, escapando de sua cafetinagem?
Basicamente, o funcionamento regido pelo medo da morte social e pela f no poder de
reinsero de que seriam portadoras as identidades prt--porter, medo e f alimentados
pela poderosssima mquina miditica global que faz de todos os habitantes do planeta,
produtores e consumidores em potencial do narcotrfico de identidade. Para desviar esse
modo de subjetivao, preciso dissolver o medo, modular ritmos, abrir intervalos de
desacelerao; no como uma finalidade em si mesma, simples oposio acelerao, sob a
forma de preguia ou cio, mas sim como condio para escutar o rumor sutil das
intensidades. Aprender a sustentar-se na metaestabilidade, no vrtice da tenso do paradoxo
entre estar atravessado pela tomada de consistncia de novos territrios e ter que situar-se
ainda atravs dos territrios em perda de consistncia. Instalar-se no olho do furaco dos
fluxos que atravessam a subjetividade, mantendo sempre como norte a proteo da vida em
seu processo infinito de diferenciao, processo difcil mas muito generoso. Descobrir que
a tenso parte do movimento da vida e que apenas momentaneamente ela se apazigua,
mas que isso s acontece de fato quando se faz um territrio singular que absorve as
intensidades e se oferece como forma para seus signos, ainda que fugazmente. Muito
diferente dos territrios-padro do capitalismo, que por mais atraentes, so vazios de vida,
o que faz com que a tenso nunca se apazigue pois persiste a sensao de no participar da
construo da existncia, de no pertencer a nada e de que a vida no tem sentido.
Diante deste quadro, constatamos que foi-se o tempo em que aquilo que prprio da
arte, a fora de inveno, era confinado numa esfera especializada, problema que desde as
vanguardas do comeo do sculo XX os artistas buscaram enfrentar. Restabelecer a ligao
entre arte e vida, constituiu uma das principais metas da utopia da arte moderna, processo
onde se inscreveram inmeras de suas estratgias, ao qual a arte contempornea deu
continuidade, radicalizando seu alcance, ampliando suportes e dispositivos.
verdade que tampouco podemos dizer que a dissociao entre arte e vida deixou
de existir. Pelo contrrio, a ciso no s continua na ordem do dia, mas tornou-se mais
complexa, assim como mais refinada e poderosa tornou-se sua perverso. Ela deslocou-se
da fronteira entre a esfera da arte e as demais esferas da existncia humana, espalhou-se por
toda parte e conhec-la passou a depender de um olhar transdisciplinar e no reduzido
retina.
A questo coloca-se hoje em outros termos: a dissociao entre arte e vida a ser
combatida no se situa mais no visvel, na fronteira entre esferas especializadas no mapa de
um tipo de existncia humana departamentalizada, ficando de um lado a esfera da arte onde
se exerce a criao e, de outro, a esfera da vida em geral. O capitalismo foi mais veloz na
eliminao dessa fronteira; como vimos ele no s ativou a potncia de criao por toda
parte, mas colocou-a no cerne de sua produo e fez dela sua principal fonte de valor. A
dissociao agora situa-se entre o visvel e o invisvel: de um lado, o exerccio da vida
enquanto potncia de inveno e, de outro, o processo vital que convoca esses exerccio,
diagrama intensivo invisvel que pede passagem para o visvel. Tal ciso constitui uma
engrenagem essencial da mquina que submete o exerccio da fora de inveno ao
princpio da acumulao de capital.
Esse tipo de dissociao entre arte e vida implica uma operao perversa de grande
complexidade e que pode incidir sobre diferentes etapas do processo de criao. Numa
ponta, a operao se d no momento mesmo em que a fora de inveno mobilizada,
incidindo sobre o prprio exerccio dessa fora. Este clivado do processo vital que o havia
convocado, para ser diretamente orientado pelas demandas de consumo rastreadas pelas
tecnologias de pesquisa de mercado que se sofisticam a cada dia. Na outra ponta do
processo, a operao se d no momento em que a fora de inveno j engendrou seus
produtos, isto , formas de realidade objetiva e/ou subjetiva. Nesse caso, o exerccio da
criao mantm-se orientado pelas demandas do processo vital e, como vimos, ele at
estimulado nessa direo, mas ento a operao de dissociao ir incidir sobre seus
produtos. Estes que sero clivados de sua origem vital, transformados em matrizes de
clones de modos de existncia, a serem fabricados e veiculados pelo mercado capitalista
mundial.
O problema que se coloca para a arte hoje est portanto na poltica de semiotizao
dominante: a captura perversa da fora de inveno, instrumentalizada para a produo de
capital. No se trata de recusar a capilarizao do exerccio da criao, sua reinsero na
vida social; pelo contrrio trata-se de aceit-la, afirm-la e mesmo intensific-la, levando s
ltimas conseqncias esse processo deslanchado pelo capital que dissolve as fronteiras que
isolavam a cultura numa esfera especfica, gueto em que havia sido confinada a fora de
inveno. Mas afirmar a disseminao dessa potncia, desertando sua subservincia ao
comando tirnico pelo aparelho de captura e homogeneizao, desfazendo tanto a
dissociao que orienta seu exerccio, quanto a reificao de suas criaes em cada uma das
atividades humanas, inclusive e talvez antes de mais nada no exerccio da prpria arte.
Criar alianas entre prticas que desertam ativamente a mquina de sobrecodificao e
inventam outras cenas, colocando em rede sua sinergia e reanimando sua potncia de
singularizao; inserir-se no movimento de reativao da fora de inveno, mas a
contrapelo de seu esvaziamento vital, da neutralizao de seu poder crtico nessa direo
inscrevem-se algumas das pratiques artistiques mais radicais da atualidade.
10
Para tais propostas, pratique artistique processo no tempo, ou processo que
tempo, e no apenas seu produto, o objeto no espao, mesmo que virtual, condio qual a
arte tem sido reduzida. Inventam-se dispositivos espao-temporais de um outro estarjunto 8 , atravs de estratgias de insero sutil e precisa num feixe de fluxos que compe
uma seqncia do processo de existencializao, para desobstru-lo dos cogulos de espao
que o emperram, favorecer a individuao no tempo, o devir. Pratiques artistiques a servio
da reconexo com a realidade viva do intensivo, condutoras de processo, produtoras de
acontecimento, ou melhor acontecimento elas mesmas. Arte como servidora das foras que
pedem para ganhar forma no mundo, processo de criao em conexo on-line com o
movimento vital.
Talvez seja mais preciso chamar de ato esttico esse tipo de prtica, para enfatizar
seu carter performtico: performance de uma potncia criando um cenrio singular para
os signos que se apresentam na realidade viva das intensidades; ritual que
propicia
identificao com o exerccio de conexo com o processo vital e de criao de cenrios
para seus signos, no lugar da identificao com seus produtos, reificados, empalhados,
mortos; qualidade de presena que promove um desvio efetivo no modo de subjetivao
dominante. Sem esse carter performtico, o dispositivo corre o risco de ser imediatamente
engolfado no poderosssimo circuito dos objetos/imagens, que o capturam e o esvaziam de
sua consistncia vital, para fazer dele mais um clone de subjetividade a ser oferecido no
mercado, mais uma identidade prt--porter que render dividendos comercias e
simblicos.
Uma srie de falsos problemas tem sido colocados pela arte contempornea em sua
busca de situar-se na tensa complexidade da situao presente. De um modo geral, eles
dizem respeito a um s e mesmo equvoco: manter o foco na assim chamada esfera do
cultural, tanto na circunscrio do problema a ser enfrentado pelas prticas artsticas,
quanto nas estratgias para enfrent-lo. Enxerga-se apenas no campo da cultura a presena
do aparelho de captura da fora de criao instalado pelo capital, deixando-se inclusive de
perceber o papel que a arte desempenha no funcionamento desse aparelho no conjunto da
vida coletiva. Da mesma maneira, limita-se aos espaos da cultura, a inveno de
8
Jacques Rancire, entrevista indita a Hans-Ulrich Obrist.
11
estratgias esttico-polticas que problematizem essa situao. Com isso passa-se ao largo
da disseminao dessa poltica de semiotizao operada pelo capital, quando exatamente
no amplo espectro das prticas de semiotizao sobrecodificadas que atravessam a cena
social como um todo que a arte deve encontrar suas vias de insero crtica. O perigo
inventar uma poltica de resistncia/criao nas pratiques artistiques sem poder algum de
deslocamento efetivo e, com isso, facilmente instrumentalizveis pelo capital.
As estratgias que melhor tem driblado esses falsos-problemas so as que buscam
cultivar o exerccio sutil de uma etologia de construo de territrios, diferente da
construo perversa desse mundo de clones de subjetividade sob o imprio do capital. No
lugar de uma subjetividade-capitalstica, seja ela de luxo ou de lixo, uma subjetividadeesttica comea silenciosamente a roubar a cena.
12
Resumo
A vida como potncia de criao deixou de restringir-se arte onde seu exerccio havia
sido isolado como esfera. O capitalismo mundial integrado no s ampliou sua extenso,
convocando-a por todo o tecido social, mas a intensificou e a colocou no cerne de sua produo.
No entanto, posto a servio da produo de mais-valia, o exerccio da criao dissociado do
substrato vital que a mobiliza. Fora de inveno turbinada e capturada e vida como processo
sobrecodificada, so o combustvel de luxo do capitalismo contemporneo, seu protoplasma.
Problemas engendrados nesta agitada movimentao de terras, especialmente em seus
efeitos nas polticas da subjetividade, e mais especificamente na arte contempornea, constituem
o foco desse ensaio.
Você também pode gostar
- Slides Do Curso de Planejamento FinanceiroDocumento147 páginasSlides Do Curso de Planejamento FinanceiroRossano CancelierAinda não há avaliações
- UntitledDocumento422 páginasUntitledeliseu klismannAinda não há avaliações
- Custo de CapitalDocumento21 páginasCusto de Capitalrohideki100% (2)
- Xnue Investimentos para Fazer Dinheiro Completo 2023. (PDF - Io)Documento4 páginasXnue Investimentos para Fazer Dinheiro Completo 2023. (PDF - Io)Caio Augusto50% (6)
- O Outro sou eu Também a Formação de Professores das Classes Populares em Diálogo com Paulo Freire e Enrique DusselNo EverandO Outro sou eu Também a Formação de Professores das Classes Populares em Diálogo com Paulo Freire e Enrique DusselNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Atividade de Pesquisa-Prática FinalDocumento2 páginasAtividade de Pesquisa-Prática FinalRilexxx Sound40% (5)
- Livro Investidor GlobalDocumento124 páginasLivro Investidor GlobalJackAinda não há avaliações
- Círculos de Construção de Paz: experiência e olhares na escola públicaNo EverandCírculos de Construção de Paz: experiência e olhares na escola públicaAinda não há avaliações
- 2013 Curador Como EtnografoDocumento17 páginas2013 Curador Como Etnografoparanoia77Ainda não há avaliações
- Artistas do invisível: O processo social e o profissional de desenvolvimentoNo EverandArtistas do invisível: O processo social e o profissional de desenvolvimentoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Exercícios críticos: Gestos e procedimentos de invençãoNo EverandExercícios críticos: Gestos e procedimentos de invençãoAinda não há avaliações
- Práticas Grupais Na Esquizoanalise Cartografia Dominico GDocumento15 páginasPráticas Grupais Na Esquizoanalise Cartografia Dominico GNayaraXsAinda não há avaliações
- Poemas de Água: Teatro, Ação Cultural e Formação ArtísticaNo EverandPoemas de Água: Teatro, Ação Cultural e Formação ArtísticaAinda não há avaliações
- Aps ModeloDocumento20 páginasAps ModeloKamilaSantos100% (1)
- Psicologias Do Fascismo - Curso CompletoDocumento115 páginasPsicologias Do Fascismo - Curso CompletoEMariaAinda não há avaliações
- ROLNIK, Suely. Esquizoanálise e AntropofagiaDocumento10 páginasROLNIK, Suely. Esquizoanálise e AntropofagiaIsabella BittarAinda não há avaliações
- Arte e Psicanálise. Uma Possível Interseção Com o SurrealismoDocumento3 páginasArte e Psicanálise. Uma Possível Interseção Com o SurrealismoRodrigo DuarteAinda não há avaliações
- PEDROSA, Mario - Crise Ou Revolução Do ObjetoDocumento4 páginasPEDROSA, Mario - Crise Ou Revolução Do ObjetoMara LoboAinda não há avaliações
- Politicas de SubjetivaçãoDocumento0 páginaPoliticas de SubjetivaçãoLázaro BatistaAinda não há avaliações
- BONET, Octavio - Do Que Estamos Falando - Eficácia Simbólica, Metáforas e Espaços 'Entre'Documento20 páginasBONET, Octavio - Do Que Estamos Falando - Eficácia Simbólica, Metáforas e Espaços 'Entre'octbonAinda não há avaliações
- Mauro Koury - Das Subjetividades Às EmoçõesDocumento19 páginasMauro Koury - Das Subjetividades Às EmoçõesWilliane PontesAinda não há avaliações
- VAILATI - Antropologia Audiovisual Na Prática PDFDocumento307 páginasVAILATI - Antropologia Audiovisual Na Prática PDFLuciana RibeiroAinda não há avaliações
- Notas Sobre Leonilson e Arthur Bispo Do Rosário - Leopoldo NosekDocumento8 páginasNotas Sobre Leonilson e Arthur Bispo Do Rosário - Leopoldo NosekWalerie GondimAinda não há avaliações
- Pluraridade e Ambiguidade Na Experiencia ArtisticaDocumento15 páginasPluraridade e Ambiguidade Na Experiencia ArtisticaSandro NovaesAinda não há avaliações
- 2010 2 Antropologia Do Cuidado (AF)Documento77 páginas2010 2 Antropologia Do Cuidado (AF)Alvaro Mota Magalhaes100% (1)
- Todos Nós Ninguém - Martin Heidegger PDFDocumento36 páginasTodos Nós Ninguém - Martin Heidegger PDFRafaela Shinohara0% (1)
- Vanguarda Ou Terapia? - Arte TerapiaDocumento6 páginasVanguarda Ou Terapia? - Arte TerapiaJosé Hiroshi TanigutiAinda não há avaliações
- Vanti, Elisa. A Fotografia e A Pesquisa em HE PDFDocumento10 páginasVanti, Elisa. A Fotografia e A Pesquisa em HE PDFÉrica AmandaAinda não há avaliações
- Alfonso López Quintás - Como Obter Uma Formação IntegralDocumento14 páginasAlfonso López Quintás - Como Obter Uma Formação IntegralGustavo S. C. MerisioAinda não há avaliações
- Carta Ao Pais - Rubem AlvesDocumento35 páginasCarta Ao Pais - Rubem AlvesFlávia100% (1)
- O Encontro É Uma Ferida FiadeiroDocumento6 páginasO Encontro É Uma Ferida FiadeiroFrederico LeiteAinda não há avaliações
- Educação em Arte Na ContemporaneidadeDocumento348 páginasEducação em Arte Na ContemporaneidadeCarolina Venturini100% (1)
- Cartografia Do Invisível: Paradoxos Da Expressão Do Corpo-em-ArteDocumento343 páginasCartografia Do Invisível: Paradoxos Da Expressão Do Corpo-em-ArteFlávio Rabelo100% (2)
- Passos, Eduardo. Quando o Grupo É Afirmação de Um ParadoxoDocumento10 páginasPassos, Eduardo. Quando o Grupo É Afirmação de Um ParadoxoAdriano de O.Ainda não há avaliações
- SINTOMA: A FALA ENIGMÁTICA DO INCONSCIENTE - Ivanir Barp GarciaDocumento7 páginasSINTOMA: A FALA ENIGMÁTICA DO INCONSCIENTE - Ivanir Barp GarciaWania Teixeira da Costa100% (1)
- Artaud e NiseDocumento6 páginasArtaud e NiseLenz21Ainda não há avaliações
- GULLAR, Ferreira - Diálogo Sobre o Não ObjetoDocumento4 páginasGULLAR, Ferreira - Diálogo Sobre o Não ObjetoPedro LituraterreAinda não há avaliações
- Lina Bo Bardi Arte PopularDocumento29 páginasLina Bo Bardi Arte PopularValeri Carvalho100% (1)
- O Corpo Paradoxal - José GilDocumento13 páginasO Corpo Paradoxal - José GilAnaLuz08Ainda não há avaliações
- 49 CORPO ARTE E CLÍNICA: Variações Na Pesquisa Como Resistência e DiferenciaçãoDocumento14 páginas49 CORPO ARTE E CLÍNICA: Variações Na Pesquisa Como Resistência e DiferenciaçãoKiran Gorki100% (1)
- ARTIGO Viviane Furtado MatescoDocumento15 páginasARTIGO Viviane Furtado MatescoJuliana NotariAinda não há avaliações
- O Desentendimento - RancièreDocumento20 páginasO Desentendimento - RancièreAndré Carvalho de MouraAinda não há avaliações
- Os Efeitos Da Arteterapia Na AprendizagemDocumento217 páginasOs Efeitos Da Arteterapia Na AprendizagemAlexsandra BritoAinda não há avaliações
- Stéphane Malysse - O Coeficiente Da Arte de Duchamp Uma Antropologia Da Arte Conceitual PDFDocumento5 páginasStéphane Malysse - O Coeficiente Da Arte de Duchamp Uma Antropologia Da Arte Conceitual PDFJoão Paulo AndradeAinda não há avaliações
- A Cartografia de Fernand DelignyDocumento15 páginasA Cartografia de Fernand Delignyandre magelaAinda não há avaliações
- Afetos Na Filosofia ContemporâneaDocumento78 páginasAfetos Na Filosofia ContemporâneaClayton MouraAinda não há avaliações
- COSTA (1988) - Narcisismo em Tempos SombriosDocumento13 páginasCOSTA (1988) - Narcisismo em Tempos SombriosÉrico Bruno Viana CamposAinda não há avaliações
- Deleuze e o DesejoDocumento4 páginasDeleuze e o DesejoCleros2Ainda não há avaliações
- Guattari PsicanaliseDocumento20 páginasGuattari PsicanaliseMauricio de AssisAinda não há avaliações
- AMARANTE, Paulo. Reforma Psiquiátrica e EpistemologiaDocumento7 páginasAMARANTE, Paulo. Reforma Psiquiátrica e Epistemologianandinja0% (1)
- Ritmanálise - Gaston BachelardDocumento18 páginasRitmanálise - Gaston BachelardBruna Brönstrup100% (1)
- Buytendijk, TraduçãoDocumento11 páginasBuytendijk, TraduçãoMarcelo Vial RoeheAinda não há avaliações
- Psicologia Da Arte - FundamentosDocumento14 páginasPsicologia Da Arte - FundamentosAline MagalhãesAinda não há avaliações
- Inventar Uma Pele para Tudo - Tese Sobre Nuno PDFDocumento356 páginasInventar Uma Pele para Tudo - Tese Sobre Nuno PDFJoão Paulo Andrade100% (1)
- Viviane MatescoDocumento4 páginasViviane MatescoCarlaBorbaAinda não há avaliações
- Benjamin Buchloh GerardRichterpdf PDFDocumento16 páginasBenjamin Buchloh GerardRichterpdf PDFRaíza CavalcantiAinda não há avaliações
- FRIED, Michael - Arte e ObjetidadeDocumento16 páginasFRIED, Michael - Arte e ObjetidadeLuiza Cascon100% (2)
- Aula 9 - Texto - Kurt Lewin e A Dinâmica de GruposDocumento8 páginasAula 9 - Texto - Kurt Lewin e A Dinâmica de Grupostorres.samantha100% (1)
- Filosofias Da DiferenaDocumento314 páginasFilosofias Da DiferenaPaulo Schneider100% (1)
- Lygia Clark e o Híbrido Arte e Clínica PDFDocumento9 páginasLygia Clark e o Híbrido Arte e Clínica PDFVictor CarmoAinda não há avaliações
- O Racismo de Fernando Pessoa... - GeledésDocumento10 páginasO Racismo de Fernando Pessoa... - GeledésLUCIANAAinda não há avaliações
- Diálogos sem fronteira: História, etnografia e educação em culturas ibero-americanasNo EverandDiálogos sem fronteira: História, etnografia e educação em culturas ibero-americanasAinda não há avaliações
- A Sociedade Do EspetáculoDocumento24 páginasA Sociedade Do EspetáculoLeda BragaAinda não há avaliações
- Muito Além Do Espetáculo Maria Rita KehlDocumento15 páginasMuito Além Do Espetáculo Maria Rita KehlBreno CarvalhoAinda não há avaliações
- Entrevista Redobra Suely RolnikDocumento14 páginasEntrevista Redobra Suely RolnikSérgio PrucoliAinda não há avaliações
- Marcelo Santos - Projeto Dos EUA de Integracao Da America LatinaDocumento17 páginasMarcelo Santos - Projeto Dos EUA de Integracao Da America LatinaIgor Lemos MoreiraAinda não há avaliações
- CEPAL Pacheco e Corder Parte 1Documento50 páginasCEPAL Pacheco e Corder Parte 1fab101Ainda não há avaliações
- Expectation Gap em AuditoriaDocumento17 páginasExpectation Gap em AuditoriaemmanueldiasAinda não há avaliações
- MCCI11 Janeiro23Documento23 páginasMCCI11 Janeiro23JOÃO VICTOR CANALLEAinda não há avaliações
- OTET Ficha de Trabalho Módulo 12Documento7 páginasOTET Ficha de Trabalho Módulo 12soujaime1952Ainda não há avaliações
- Analise Da Estrutura Do Mercado A Nivel Dos Megaprojectos em MocambiqueDocumento17 páginasAnalise Da Estrutura Do Mercado A Nivel Dos Megaprojectos em MocambiqueMiriate Pensamento FilipeAinda não há avaliações
- Analise FundamentalistaDocumento71 páginasAnalise FundamentalistaviniciusvanderleyabsAinda não há avaliações
- Conceito de Deficit PublicoDocumento2 páginasConceito de Deficit PublicoJaqueline Frabetti ScaqueteAinda não há avaliações
- GE - Gestão Financeira 03Documento19 páginasGE - Gestão Financeira 03André LoureiroAinda não há avaliações
- MPSBR Gpr1 Termo Abertura ProjetoDocumento2 páginasMPSBR Gpr1 Termo Abertura ProjetoVbecker BeckerAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Local e Desenvolvimento EndógenoDocumento9 páginasDesenvolvimento Local e Desenvolvimento EndógenoAndreia MarcelinoAinda não há avaliações
- Manual Certificacao ProfissionalDocumento53 páginasManual Certificacao ProfissionalmbtavaresAinda não há avaliações
- Marketing ÁgilDocumento46 páginasMarketing ÁgilletyAinda não há avaliações
- APOSTILA SOBRE CUSTOS AGROPECUARIOS - w2003Documento21 páginasAPOSTILA SOBRE CUSTOS AGROPECUARIOS - w2003Romo CofaldoAinda não há avaliações
- Bio25 Art1Documento13 páginasBio25 Art1NelmarcioAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios II - GECT - 2022.1Documento3 páginasLista de Exercícios II - GECT - 2022.1lucasrama2002Ainda não há avaliações
- Factsheet Do Programa PotencializEE (Português)Documento2 páginasFactsheet Do Programa PotencializEE (Português)oldemar SINDISTALAinda não há avaliações
- P3 - Reestruturação de Empresas - Parte 3Documento61 páginasP3 - Reestruturação de Empresas - Parte 3Beatriz SantosAinda não há avaliações
- Matematica FinanceiraDocumento18 páginasMatematica FinanceiraSabrina NogueiraAinda não há avaliações
- Demonstrativos Financeiros Do Resultado Da Copel Do 1t23Documento109 páginasDemonstrativos Financeiros Do Resultado Da Copel Do 1t23The Capital AdvisorAinda não há avaliações
- Módulo 2 - Conheça Os Títulos Públicos PDFDocumento8 páginasMódulo 2 - Conheça Os Títulos Públicos PDFjhc_riqueAinda não há avaliações
- Quiz Normas e Práticas Contábeis em Instituições FinanceirasDocumento8 páginasQuiz Normas e Práticas Contábeis em Instituições FinanceirascaweAinda não há avaliações
- Cenarios Economicos AulaDocumento121 páginasCenarios Economicos AulaMaria Cláudia CostaAinda não há avaliações