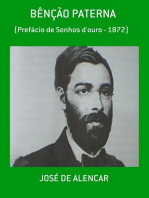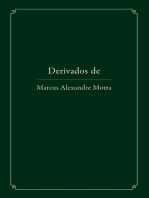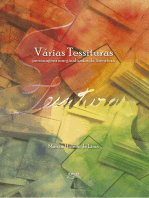Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apesar de Dependente, Universal - SSantiago
Apesar de Dependente, Universal - SSantiago
Enviado por
Aline MunizTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apesar de Dependente, Universal - SSantiago
Apesar de Dependente, Universal - SSantiago
Enviado por
Aline MunizDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Silviano Santiago
Apesar de dependente, universal
Apesar de dependente, universal
Silviano Santiago
SANTIAGO, Silviano. Vale quanto pesa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980.: Apesar de
dependente, universal.
Comentrio: Maria Consuelo Cunha Campos (UERJ)
APESAR DE DEPENDENTE, UNIVERSAL
"No somos europeus nem americanos do norte, mas destitudos de cultura original, nada nos
estrangeiro, pois tudo o . A penosa construo de ns mesmos se desenvolve na dialtica entre
o no ser e o ser outro."
Paulo Emlio Sales Gomes (1973)
Porque a verdade, no sei se dura ou carovel, esta: se minha gerao tem por dever (ainda
no sei se por vocao) uma reinterpretao eminen- temente universalista dos problemas
brasileiros, isso s poder ser feito com base na interpretao naciona- lizadora e regionalizadora
do modernismo...
Jos Guilherme Merquior (1980)
I
No sempre que se modifica a concepo geogrfica que o homem tem do mundo. Mas
em lugar deste ampliar do horizonte visual operar um desequilbrio positivo e fecundo nos
alicerces do homem e da sociedade que descobrem, serve ele antes para que o desbravador
reproduza - em outro lugar - os conflitos e impasses poltico-sociais e econmicos da sua
sociedade, sob forma bsica de ocu- pao. Exemplo concreto: o Novo mundo serviu de palco
para onde deslocar o beco-sem-sada das guer- ras santas que se desenrolavam na Europa. O
conquistador vitorioso acaba por introjetar na "desconhecida" Am- rica o dilema maior dos reis e
sditos europeus, todos s voltas com a que- bra da unidade da Igreja e com as constantes
guerras entre faces religiosas distintas (catlicos, lutera- nos, calvinistas, etc.). dessa forma
que o "desconhecido" se torna "conhecido", estabelecendo o padro cultural da colonizao.
A catequese de um Jos de Anchieta, alm de preparar o indgena para a "converso" e a
"salvao" da sua alma, serve tambm para coloc-lo - sem que saiba a razo, pois simplesmente
a desconhece - entre portugueses e franceses, entre a Reforma e a Contra-Reforma. Ela prepara
e incita o ndio a brigar por uma questo (a unidade da Igreja e a constituio do Estado forte
europeu) que no sua nem dos seus. Exige-se dele que introjete uma situao scio-poltica e
econmica que no dele. Sintomtico desse estado de coisas o fervor ao padroeiro do Esprito
Santo, So Maurcio, que o texto de Anchieta quer inspirar junto aos catecmenos. Fiel a um
imperador pago, Maurcio, ento soldado, convocado para combater os cristos frente da sua
legio tebana. No meio da batalha, vira a casaca, e j disposto a no matar os cristos acaba por
desobedecer ao poder supremo do imperador, sendo por ele sacrificado. O soldado Maurcio
rebelde com relao aos pagos seus irmos; o convertido Maurcio mrtir dentro do processo
de catequese catlica; So Maurcio padroeiro do Esprito Santo nesta nova fase da difuso da
f. Como rebelde, mrtir e padroeiro , antes de mais nada, o modelo a ser imitado.
Servem a vida e o martrio desse santo como contraponto simblico para o esprito de
rebeldia contra os corsrios franceses e ingleses (julgados "hereges") que os cristos portugueses
querem transportar para a mente indgena. A mente indgena memoriza os versos da poesia
didtica de Anchieta e so estes dados como "seus":
O pecado nos d a guerra
em todo o tempo e lugar.
E, pois quisestes (S. Maurcio) morar
nesta pobre terra,
Silviano Santiago
Apesar de dependente, universal
ajudai-a sem cessar,
porque cessando o pecar
cessaro muitos reveses
com que os hereges franceses
nos podero apertar
e luteranos ingleses.
A luta pelo poder e partilha dessa "nossa pobre terra" compreendida pela diviso e luta
religiosas. S que, aqui, a terra palco e a luta encenao, enquanto l na Europa o problema
a realidade concreta do cuius regio, eius religio ("cada pas tem a sua prpria religio).
J por essa poca o indgena no dado mais pelo portugus como tbula rasa, mas
dado pelo catlico portugus como ocupado pelo herege francs ou ingls. A converso, em fins
do sculo XVI, opera duas aes de despejo contra o indgena: convertendo-o, desaloja-o da sua
cultura; fazendo com que se revolte contra os "hereges", desaloja-o de qualquer outra ocupao
que no a catlica. Em ambos os casos, f-lo entrar nos conflitos maiores do mundo ocidental
sem que tenha tomado parte nos acontecimentos, mero ator, mero recitador que . Duplamente
despoja- do: a Histria europia a estria do indgena. Resta-lhe memorizar e viver com
entusiasmo uma "fico" europia (portuguesa, em particular) que se transcorre num grande palco
que a sua prpria terra. E j no sculo XX nem mais a terra sua. Terceira, ltima e definitiva
ao de despejo operada pelos colonizadores.
importante notar como a colonizao, no mundo moderno, s podia ser uma atividade
docente, onde a memria era o dom mais re- quisitado. A tal ponto que historiadores
contemporneos nossos julgam acredi- tar que a origem de uma "inteligncia brasileira" se d
quando colgios so criados no sculo XVI. Ou seja: quando a histria alheia imposta como
matria de memorizao, de ensino, imposta como a nica verdade. Desnecessrio salientar o
compro- misso violento da categoria de "in- teligncia", nesse contexto, com o mais ardoroso
etnocentrismo. Etno- centrismo esse que traduz a con- cepo do mundo pr-cabralino presente
nos primeiros colonizadores, pois davam eles civilizao indgena o estatuto de tbula rasa.
Triste "inteligncia brasileira" que, ao querer alar o vo da reflexo histrica, ainda se confunde
com preconceitos quinhentistas!
Dentro dessa perspectiva etnocntrica, a experincia da colonizao basicamente uma
operao narcsica, em que o outro assimilado imagem refletida do conquistador, confundido
com ela, perdendo portanto a condio nica de sua alteridade. Ou melhor: perde a sua
verdadeira alteridade (a de ser outro, diferente) e ganha uma alteridade fictcia (a de ser imagem
refletida do europeu). O indgena o Outro europeu: ao mesmo tempo imagem especular deste e
a prpria alteridade indgena recalcada. Quanto mais diferente o ndio, menos civilizado; quanto
menos civilizado, mais nega o narciso europeu; quanto mais nega o narciso europeu, mais
exigente e premente a fora para torn-lo imagem semelhante; quanto mais semelhante ao
europeu, menos a fora da sua prpria alteridade. Eis como se desenrola a ocupao. Eis como
se cria a "inteligncia" no Brasil.
Se o mvel da descoberta o desconhecido, e para isso se requer dos homens o esprito de
abertura, a coragem e a audcia, j a experincia da colonizao requer o esprito profiteur, a
espada e a falsa cordialidade. A falsa cordialidade diz: seremos amigos, desde que voc me
obedea; a espada continua: se no me obedecer, o ferro e o fogo; e o esprito ganancioso
arremata: vale a empresa, enquanto der lucro.
O Velho do Restelo, nos Lusadas, de Cames - ou os leitores que criticam hoje o programa
especial da NASA em cartas s revistas Time e Newsweek -, retira a sua fora da ambigidade
moral da situao da descoberta e da colonizao. beira do cais, o Velho no embarca. No
age, fala. Reflete. Reflexo moral. Acha intil a busca do desconhecido, porque o desconhecido
est na prpria sociedade, s no v quem no quer; civilizar o outro tarefa suprflua enquanto
existam "outros" (isto , grupos marginalizados) que so oprimidos pela classe dominante, etc.
Para que sair, se os problemas de casa no foram ainda resolvidos, e so tantos.
II
Silviano Santiago
Apesar de dependente, universal
Vemos, portanto, que as descobertas martimas da poca moderna e a posterior ocupao
das terras descobertas pelos europeus serviram no s para alargar as fronteiras visuais e
econmicas da Europa, como tambm para tornar a histria europia em Histria universal,
Histria esta que, num primeiro momento, nada mais do que estria, fico, para os ocupados.
As diferenas econmicas, sociais, polticas, culturais, etc., so, primeiro, abolidas a ferro e fogo,
transformando o multifacetado mundo medieval (a parte propriamente europia, "conhecida", e as
vrias outras, "desconhecidas") em um todo narcisi-amente composto segundo os valores dos
colonizadores, e so aquelas diferenas, em segundo lugar, abolidas pelo discurso vitorioso e
exclusivo da Histria universal.
Tal processo de uniformizao das diferentes civilizaes existentes no mundo, tal processo
de ocidentalizao do recm-descoberto, passou a dirigir os desgnios das organizaes sciopolticas e econmicas do Novo Mundo, instituindo a classe dominante como detentora do
discurso cultural, discurso europeizante (inclusive nas constantes e sucessivas assimilaes
"cordiais" da diferena indgena ou negra). A cultura oficial assimila o outro, no h dvida; mas,
ao assimil-lo, recalca, hierarquicamente, os valores autctones ou negros que com ela entram
em embate. No Brasil, o problema do ndio e do negro, antes de ser a questo do silncio, a da
hierarquizao de valores.
Relevante papel, dentro deste contexto, passou a ter a Antropologia, cincia criada pela
conscincia ferida europia. Dentro da cultura dos conquistadores, criou-se um lugar especial e
sacrossanto de onde se pode avaliar a violncia cometida por ocasio da colonizao, lugar onde
se tenta preservar - sob a forma de discurso cientfico, no tenhamos iluses - o que ainda
possvel de ser preservado. Esta adio s disciplinas propriamente europias no to sem
importncia como parecia dizer o diminuto lugar inicialmente reservado Antropologia. Acaba ela
por operar um "descentramento" importante no pensamento ocidental, pois deixa a cultura
europia de ser a detentora da verdade, de manter-se como a cultura de referncia,
estabelecedora por excelncia das hierarquias.
O intelectual brasileiro, no sculo XX, vive o drama de ter de recorrer a um discurso
histrico, que o explica mas que o destruiu, e a um discurso antropolgico, que no mais o
explica, mas que fala do seu ser enquanto destruio. Como diz em bela sntese Paulo Emlio
Salles Gomes: "A penosa construo de ns mesmos se desenvolve na dialtica rarefeita entre o
no ser e o ser outro". Somos explicados e destrudos; somos constitudos, mas j no somos
explicados.
Como "explicar" a "nossa constituio", como refletir sobre a nossa inteligncia? Nenhum
discurso disciplinar o poder fazer sozinho. Pela Histria universal, somos explicados e
destrudos, porque vivemos uma fico desde que fizeram da histria europia a nossa estria.
Pela Antropologia, somos constitudos e no somos explicados, j que o que superstio para a
Histria, constitui a realidade concreta do nosso passado.
Ou bem nos explicamos, ou bem nos constitumos - eis o falso dilema para o intelectual
brasileiro, que gera, na sua simplificao, todas as formas de discurso autoritrio entre ns, tanto
o populista, quanto o integralista. preciso buscar a "explicao" da "nossa constituio" (vale
dizer da nossa inteligncia) atravs de um entregular, como o caracterizamos em um ensaio
escrito em 1969 e hoje em Uma Literatura nos Trpicos, ou atravs de uma "dialtica rarefeita",
como quer Paulo Emlio. Nem cartilha populista, nem folclore curupira - eis as polarizaes que
devem ser evitadas a bem de um socialismo democrtico. Nem o paternalismo, nem o imobilismo.
Na configurao ambivalente do seu ser cultural reside o drama tico do intelectual brasileiro
face a todas as minorias da Amrica Latina. A sua compreenso dessas minorias, pelo
materialismo histrico, tem de passar pela integrao total e definitiva delas ao processo de
ocidentalizao do mundo; a compreenso delas pelo pensamento antropolgico tem de
questionar essa integrao histrica, para que elas no continuem a viver uma "fico" imposta
como determinante do seu passado e do seu desaparecimento futuro. Difcil o pacto entre o
homem latino-americano e a Histria ocidental, a no ser que se caia em certas determinaes de
cunho desenvolvimentista, onde se afigura como capital a prxis ideolgica do progresso (ainda
que esta categoria no esteja explicada pelo pensamento de esquerda no Brasil, ela nele tambm
est presente).
Silviano Santiago
Apesar de dependente, universal
A prxis do progresso enquanto fora ideolgica, j a conhecemos. Ela d subemprego s
minorias (veja o perodo ureo juscelinista ou os anos recentes do "milagre"); no d
conscientizao scio-poltica; no d cultura, deixa que as novelas de tev dramatizem para o
grosso da populao a mobilidade social fcil nestas terras to preconceituosas e to autoritrias.
O progresso incorpora as minorias a um avano histrico, que simulacro, continua fico, e que,
por isso, no pode atingir o modo de ser social de quem busca a sua "explicao". Ele incorpora
as minorias a um avano da classe dirigente, por isso que as diferenas sociais (apesar da
mensagem constante das novelas das sete e das oito) se acentuam nos momentos mais agudos
do desenvolvimentismo. A maior verdade do "milagre" so os bia-frias; a maior mentira do
"milagre" no o bolo, a faca. A faca na mo de quem corta. Quem parte e reparte fica com a
melhor parte.
III
O desvio para se chegar ao cerne do nosso objetivo est sendo longo; desejamos que no
seja impertinente. Est servindo ele para justificar o questionamento das categorias fortes que
servem de alicerce para a literatura comparada. somente dentro dessa perspectiva histricoantropolgica, dessa perspectiva econmica, social e poltica (cultural, no sentido mais amplo),
que se pode compreender a necessidade de um confronto do intelectual latino-americano com
certas disciplinas de saber oriundas do pensamento europeu. Guardam estas - quando entra em
jogo a questo da produo do outro, isto , do indgena e do negro - uma violenta taxa de
etnocentrismo, que invalida, a priori, o rigor no raciocnio, a exigncia na anlise e a maestria na
interpretao.
Comecemos pela caracteri-zao sumria do objeto de estudo da literatura comparada.
Basicamente, o objeto tem de ser duplo, constitudo que por obras literrias geradas em
contextos nacionais diferentes que so, no entanto, analisadas contras- tivamente com o fim de
ampliar tanto o horizonte limitado do conhecimento artstico, quanto a viso crtica das literaturas
nacionais.
bvio que um perodo como o Renascimento bastante rico para esse tipo de estudo, pois
naes europias se constituem culturalmente, aprofundando-se no solo comum judaico-grecoromano, no processo mesmo de estabelecimento das dife-renas regionais. Pelo solo comum do
passado, guarda-se a amplitude das semelhanas entre Portugal, Espanha, Frana, Itlia, etc., e
se destroem as fronteiras nacionais que so constitudas naquele presente. Alm do mais, a dupla
exigncia da imitao (a dos clssicos greco-latinos e a dos contemporneos do autor) como
forma de emulao, de aprimoramento, leva o criador a inspirar-se no outro para que melhor saia
o seu produto. Este feixe de situaes aparentemente divergentes - pois da sai uma cultura nica
europia - torna o perodo ideal para os estudos de literatura comparada. Ainda mais que os
"Estados" emergem a partir de sintomticas diferenas, todas produtos do mesmo contexto
econmico, social e poltico e das suas contradies.
A situao da literatura latino- americana, ou da brasileira em particular, com relao
literatura europia ontem e literatura americana do norte hoje, j no apresenta um terreno to
tranqilo. Que a perspectiva correta para se estudar as literaturas nacionais latino-americanas a
da literatura comparada no h dvida. Antonio Candido desde as primeiras pginas alerta o leitor
da Formao da Literatura Brasileira: "H literaturas de que um homem no precisa sair para
receber cultura e enriquecer a sensibilidade; outras, que s podem ocupar uma parte da sua vida
de leitor, sob pena de lhe restringirem irremediavelmente o horizonte. (...) Os que se nutrem
apenas delas so reconhecveis primeira vista, mesmo quando eruditos e inteligentes, pelo
gosto provinciano e falta de senso de propores. (...) Comparada s grandes, a nossa literatura
pobre e fraca. Mas ela, no outra, que nos exprime".
IV
A perspectiva correta: acreditar que possamos ter um pensamento autctone autosuficiente, desprovido de qualquer contato "aliengena", devaneio verde- amarelo; a avaliao
justa: colocar o pensamento brasileiro comparativa- mente, isto , dentro das contingncias
econmico-sociais e poltico-culturais que o constituram, evitar qualquer trao do dispensvel
ufanismo. Resta saber se os intelectuais brasileiros no tm insistido em defeitos de mtodo,
Silviano Santiago
Apesar de dependente, universal
apesar da correo e da justeza do pensamento. preciso, pois, cuidado com o mtodo, com a
ttica de abordagem dos objetos, em suma: com a estratgia de leitura dos textos afins.
Caso nos restrinjamos a uma apreciao de nossa literatura, por exemplo, com a europia,
tomando como base os princpios etnocntricos - fonte e influncia - da literatura comparada,
apenas insistiremos no seu lado dependente, nos aspectos repetitivos e redundantes. O levantamento desses aspectos duplicadores (til, sem dvida, mas etnocntrico) visa a sublinhar o
percurso todo- poderoso da produo dominante nas reas perifricas por ela definidas e
configuradas; constituem-se no final do percurso dois produtos paralelos e semelhantes, mas
apresentando entre eles duas decalagens capitais, respon- sveis que sero pelo processo de
hierarquizao e rebaixamento do produto da cultura dominada.
Duas decalagens capitais: uma temporal (o atraso de uma cultura com relao outra) e
uma qualitativa (a falta de originalidade nos produtos da cultura dominada). O produto da cultura
dominada j e sempre tardio, pois vem a reboque, atrelado mquina do colonialismo ontem e
do neocolonialismo capitalista hoje. Tardio, no tenhamos dvida, porque tambm produto de
uma maneira de ser "memorizada". interessante notar como a tendncia bsica do pensamento
colonizado o enciclo- pedismo, ou seja, o saber introjetado, aprendido, assimilado de vrias e
generosas fontes, e depois aparente em uma produo cultural cujo valor bsico a sntese. (
preciso pensar como, nas culturas dominantes, to fluida a diferena - diferena capital nas
culturas dominantes - entre histo- riador e pensador original.) A sntese histrica no produto
original, antes de mais nada generosa, abran- gente, eqidistante e to liberal quanto o prprio
pensamento que a originou. Portanto no estranho que o ideal de uma "inteligncia" colonizada
e docen- te seja o arrolar infindvel dos fatos culturais, sem nenhuma preocupao outra que a
lgica da sua sucesso exaustiva.
O pensamento que se quer dependente no surge s como uma reflexo sobre dados
empricos de uma nao, e sempre foi tambm uma fico sob (e no sobre) a cultura ocupante.
sempre j uma apro- priao elogiosa do produto da cultura dominante, produto este que hierarquiza, restringe e acaba sendo respon- svel pela viso etnocntrica do criador ou historiador.
Mas, para o equvoco bem-intencionado do enciclo- pedismo europeocntrico (de resto
necessrio, caso a tarefa seja a do livro-enciclopdia de A a Z, mas desti- tudo de interesse
quando "glria" individual), j temos alguns antdotos fabricados desde o modernismo.
Tomemos trs deles.
Primeiro: A noo mal-intencionada da antropofagia cultural, brilhantemente inventada por
Oswald de Andrade, num desejo de incorpo-rar, criativamente, a sua produo dentro de um
movimento universal.
Segundo: A noo de "traio da memria", eruditamente formulada por Mrio de Andrade
atravs de suas pesquisas em msica com vistas a uma produo nacional-popular. Gilda de
Mello e Souza, em O Tupi e o Alade, recolocou-a em circulao para uma bem-sucedida
interpretao de Macunama. Terceiro: A noo bem-pensante e possivelmente ideolgica de
"corte radical" em geral implicado (s vezes no explicitado) pelos sucessivos movimentos de
vanguarda, e recentemente defendido e daquela forma cognominado pelo grupo concreto paulista
(a noo uma apropriao do "paideuma" poundiano, revista pelo "parntese" isebiano).
Em todos os trs casos no se faz de conta que a dependncia no existe, pelo contrrio
frisa-se a sua inevitabilidade; no se escamoteia a dvida para com as culturas dominantes, pelo
contrrio enfatiza-se a sua fora coerciva; no se contenta com a viso gloriosa do autctone e do
negro, mas se busca a insero diferencial deles na totalizao universal. Ao mesmo tempo, no
se deixa perder no limbo das elucubraes etnocntricas a possvel originalidade do produto
criado. A hierarquizao pelos critrios de "atraso" e de "originalidade" cai subitamente por terra,
pois se subvertem esses valores. Subverso esta que no um jogo gratuito de cunho
nacionalista estreito, tipo integralismo dos anos 30, mas compreenso de que, apesar de se
produzir uma obra culturalmente dependente, pode-se dar o salto por cima das imitaes e das
snteses enciclopdicas etnocntricas e contribuir com algo original.
O salto por cima no pode ser dado atravs de um pensamento racional ou de uma lgica
complementar (as partes, complementos, perfazendo um todo). Em ambos os casos, cai-se nas
Silviano Santiago
Apesar de dependente, universal
clebres artimanhas do pensamento ocupante: a racionalidade analtica ou dialtica como forma
inevitvel da integrao ao todo do indgena e do negro; a complementaridade como processo de
uniformizao e totalizao da diferena.
Faz-se necessrio que o primeiro questionamento das categorias de fonte e influncia,
categorias de fundo lgico e complementar usadas para a compreenso dos produtos dominante
e dominado, se d por uma fora e um movimento paradoxais, que por sua vez daro incio a um
processo ttico e desconstrutor da literatura comparada, quando as obras em contraste escapam
a um solo histrico e cultural homogneo.
Procuramos exemplificar esse questionamento paradoxal em artigo que, desde o ttulo
borgesiano, sintomaticamente exorbita a rea do bom senso histrico e acadmico: "Ea, autor de
Madame Bovary". No se trata de mero jogo isento de aprofundamento erudito, como pode
parecer a algum historiador prenhe de scholarship; no se trata de quebra gratuita da causalidade
cronolgica, como pode desejar um intelectual relojoeiro e polcia das datas; no se trata de uma
busca de originalidade pela originalidade, com o fim bsico de encantar mentes que se realizam
na esttica conceptista.
Contestao da erudio, quebra da cronologia e busca de originalidade que se entrelaam
constituindo um suplemento crtico paradoxal - no tenhamos dvidas quanto a isto - mas ttico e
desconstrutor. nfase dada, no repetio (o que em Ea existe de Flaubert), repetio que
passa a ser, estrategicamente, o lado invisvel da obra dependente; nfase dada diferena que
o texto dependente consegue inaugurar, apesar da sua sujeio cultura francesa dominante em
Portugal. A diferena que O Primo Baslio consegue instituir frente a Madame Bovary o seu lado
visvel. O lado invisvel , em si, um todo organizado e coerente (o que se repete no segundo texto
do primeiro), e o visvel nada mais do que o suplemento de leitura e de criao que caracteriza a
produo significativa numa cultura perifrica.
Em contrapartida, fazendo o texto da cultura dominada retroagir sobre o texto da cultura
dominante (inverso no to gratuita da cronologia), consegue-se realmente que os textos da
metrpole tenham tambm, de maneira concreta e pela primeira vez, uma avaliao real da sua
universalidade. A universalidade s existe, para dizer a verdade, nesse processo de expanso em
que respostas no-etnocntricas so dadas aos valores da metrpole. Caso contrrio, cairemos
sempre nas apreciaes tautolgicas e colonizantes. Paradoxalmente, o texto descolonizado
(frisemos) da cultura dominada acaba por ser o mais rico (no do ponto de vista de uma estreita
economia interna da obra) por conter em si uma representao do texto dominante e uma
resposta a esta representao no prprio nvel da fabulao, resposta esta que passa a ser um
padro de aferio cultural da universalidade to eficaz quanto os j conhecidos e catalogados.
A universalidade ou bem um jogo colonizador, em que se consegue pouco a pouco a
uniformizao ocidental do mundo, a sua totalizao, atravs da imposio da histria europia
como Histria universal, ou bem um jogo diferencial em que as culturas, mesmo as em situao
econmica inferior, se exercitam dentro de um espao maior, para que se acentuem os choques
das aes de dominao e das reaes de dominados.
A verdade da universalidade colonizadora e etnocntrica est na metrpole, no h dvida;
a verdade da universalidade diferencial, como estamos vendo com a ajuda da Antropologia, est
nas culturas perifricas. Paradoxalmente.
Nas culturas perifricas, alis, os textos colonizados operam com brio a sntese
enciclopdica da cultura, soma generosa em que o prprio ocupado mero apndice
insignificante e complementar do movimento geral da civilizao. Nas culturas perifricas, os
textos descolonizados questionam, na prpria fatura do produto, o seu estatuto e o estatuto do
avano cultural colonizador.
Você também pode gostar
- Livro Catolico para ColorirDocumento43 páginasLivro Catolico para ColorirOlivia KimAinda não há avaliações
- Linguagem Diálogo As Ideias Linguisticas Do Círculo de Bakhtin by Carlos Alberto FaracoDocumento162 páginasLinguagem Diálogo As Ideias Linguisticas Do Círculo de Bakhtin by Carlos Alberto FaracoMaria Paula100% (1)
- Apostila Soragimik Astral Money ReikiDocumento7 páginasApostila Soragimik Astral Money ReikialineAinda não há avaliações
- Plano Anual 4º Ano Ensino FundamentalDocumento10 páginasPlano Anual 4º Ano Ensino FundamentalLauren Guy100% (6)
- LLPT LinguaPortuguesaFonologia 8ed 2017-1impressoDocumento67 páginasLLPT LinguaPortuguesaFonologia 8ed 2017-1impressoPedro Anderson MúsicoAinda não há avaliações
- Modernismos em modernidades incipientes: Mário de Andrade e Almada NegreirosNo EverandModernismos em modernidades incipientes: Mário de Andrade e Almada NegreirosAinda não há avaliações
- Fichamento Mário de Andrade PDFDocumento5 páginasFichamento Mário de Andrade PDFFelipe FernandesAinda não há avaliações
- Páginas perversas: narrativas brasileiras esquecidasNo EverandPáginas perversas: narrativas brasileiras esquecidasAinda não há avaliações
- ADORNO, Theodor - O Ensaio Como FormaDocumento16 páginasADORNO, Theodor - O Ensaio Como Formapru.afcAinda não há avaliações
- Szondi Benjamin Ensaios Sobre o Trágico - Hegel PDFDocumento21 páginasSzondi Benjamin Ensaios Sobre o Trágico - Hegel PDFRafaelSilvaAinda não há avaliações
- 28 - Comentário Bíblico Beacon - Obadias 12Documento12 páginas28 - Comentário Bíblico Beacon - Obadias 12thiago peresAinda não há avaliações
- ALUNO: Victor Henrique Rodrigues Sílvio NºDocumento4 páginasALUNO: Victor Henrique Rodrigues Sílvio NºJAQUELINE CEREZOLIAinda não há avaliações
- Aula 2 - 2021 - Linguagem Visual e Percepção EstácioDocumento104 páginasAula 2 - 2021 - Linguagem Visual e Percepção EstácioPablo MiceliAinda não há avaliações
- Roger Chartier - Mobilidade e Materialidade Dos Textos - Traduzir Nos Séculos XVI e XVII-Argos - EdUFBA (2020)Documento214 páginasRoger Chartier - Mobilidade e Materialidade Dos Textos - Traduzir Nos Séculos XVI e XVII-Argos - EdUFBA (2020)fontes franciscanasAinda não há avaliações
- COLLOT, M. O Sujeito Lirico Fora de SiDocumento17 páginasCOLLOT, M. O Sujeito Lirico Fora de SiMisty ColemanAinda não há avaliações
- Ivan Teixeira Formalismo Russo Revista CultDocumento4 páginasIvan Teixeira Formalismo Russo Revista CultDaniela Beccaccia Versiani100% (2)
- MINOGUE Kenneth Politica Uma Brevissima IntroducaoDocumento370 páginasMINOGUE Kenneth Politica Uma Brevissima IntroducaoVitor TsuyoshiAinda não há avaliações
- BUESCO, MLC - Aspectos Da Herança Clássica Na Cultura PortuguesaDocumento98 páginasBUESCO, MLC - Aspectos Da Herança Clássica Na Cultura Portuguesadvm1010Ainda não há avaliações
- Jorge AmadoDocumento31 páginasJorge AmadoluizpaixaoAinda não há avaliações
- A Notícia e A Reportagem - TesteDocumento6 páginasA Notícia e A Reportagem - TestePaulo RibeiroAinda não há avaliações
- Apostila Variaveis ComplexasDocumento150 páginasApostila Variaveis ComplexasNorval SantosAinda não há avaliações
- Concepção Do Amor e Idealização Da Mulher No RomantismoDocumento28 páginasConcepção Do Amor e Idealização Da Mulher No Romantismoles_paroles100% (1)
- A Fenomenologia de Husserl - Uma Breve Leitura - Brasil EscolaDocumento6 páginasA Fenomenologia de Husserl - Uma Breve Leitura - Brasil EscolaClaudinha CalAinda não há avaliações
- Para além das palavras: Representação e realidade em Antonio CandidoNo EverandPara além das palavras: Representação e realidade em Antonio CandidoAinda não há avaliações
- Cine, Antropología y Colonialismo: Adolfo ColombresDocumento94 páginasCine, Antropología y Colonialismo: Adolfo Colombresnu_01001110100% (3)
- Viktor Chklovski (Arte Como Procedimento)Documento24 páginasViktor Chklovski (Arte Como Procedimento)Lueldo Teixeira100% (1)
- BOSI, E. Memória e Sociedade (Introdução e Capítulo I)Documento18 páginasBOSI, E. Memória e Sociedade (Introdução e Capítulo I)Maria Isabel Rios de Carvalho VianaAinda não há avaliações
- GDAv1.0 - Teoria Da Literatura I - CPANDocumento21 páginasGDAv1.0 - Teoria Da Literatura I - CPANWellington Furtado RamosAinda não há avaliações
- Iser Wolfgang o Ficticc81cio e o Imaginacc81rioDocumento10 páginasIser Wolfgang o Ficticc81cio e o Imaginacc81rioHailton GuiomarinoAinda não há avaliações
- 02 MEDEIROS, Constantino. A Invenção Da Modernidade LiteráriaDocumento105 páginas02 MEDEIROS, Constantino. A Invenção Da Modernidade LiteráriaBruna SantosAinda não há avaliações
- JAMESON Sobre Os Estudos de Cultura PDFDocumento38 páginasJAMESON Sobre Os Estudos de Cultura PDFreilohnAinda não há avaliações
- Helio Oiticica e A Cena Americana em Entrefalas de Gloria Ferreira - Modulo 1Documento17 páginasHelio Oiticica e A Cena Americana em Entrefalas de Gloria Ferreira - Modulo 1jhowtvAinda não há avaliações
- Dois Poemas de Hölderlin, Por Benjamin Coragem de Poeta e Timidez PDFDocumento20 páginasDois Poemas de Hölderlin, Por Benjamin Coragem de Poeta e Timidez PDFErick CostaAinda não há avaliações
- Schwarz Poesia Envenenada PDFDocumento20 páginasSchwarz Poesia Envenenada PDFNícolas NardiAinda não há avaliações
- História Do Romantismo em Portugal - Teófilo BragaDocumento532 páginasHistória Do Romantismo em Portugal - Teófilo BragaAna Cláudia da SilvaAinda não há avaliações
- Literatura e Estudos de GeneroDocumento5 páginasLiteratura e Estudos de GeneroTelma Regina VenturaAinda não há avaliações
- A Recriação Da Realidade Na Crônica Jornalística Brasileira PDFDocumento10 páginasA Recriação Da Realidade Na Crônica Jornalística Brasileira PDFdiogobaixista2Ainda não há avaliações
- O Fogo e o Relato (Giorgio Agamben) PDFDocumento9 páginasO Fogo e o Relato (Giorgio Agamben) PDFcarla100% (1)
- Cenas Da Vida Pó-Moderna - Beatriz SarloDocumento78 páginasCenas Da Vida Pó-Moderna - Beatriz SarloLuísa Chacon50% (2)
- A Imposiçao Do Eu - Luciana HidalgoDocumento10 páginasA Imposiçao Do Eu - Luciana HidalgoJulia ScampariniAinda não há avaliações
- Letramento Literario Por Vielas e AlamedasDocumento9 páginasLetramento Literario Por Vielas e AlamedasPaulo André CorreiaAinda não há avaliações
- GuimaraesHeliodeSeixas D PDFDocumento438 páginasGuimaraesHeliodeSeixas D PDFMarcelle BragaAinda não há avaliações
- Aldir - Blanc Brasil - Passado.a.limpoDocumento119 páginasAldir - Blanc Brasil - Passado.a.limpoNeuza ParanhosAinda não há avaliações
- Poesia e Ideologia - Otto Maria CarpeauxDocumento8 páginasPoesia e Ideologia - Otto Maria CarpeauxrsebrianAinda não há avaliações
- Aula Costa Lima Sobre MímesisDocumento3 páginasAula Costa Lima Sobre MímesisAnonymous 0Y3E2O5mAAinda não há avaliações
- Resenha: O Sequestro Do Barroco Na Formacao - Publicado No Estado de SPDocumento1 páginaResenha: O Sequestro Do Barroco Na Formacao - Publicado No Estado de SPYasmim SilvaAinda não há avaliações
- Literatura e EnsinoDocumento148 páginasLiteratura e Ensinomeeee2011Ainda não há avaliações
- LAFETÁ, João Luiz. Estética e Ideologia - o Modernismo em 1930. in A Dimensão Da NoiteDocumento7 páginasLAFETÁ, João Luiz. Estética e Ideologia - o Modernismo em 1930. in A Dimensão Da NoiteKamila BorgesAinda não há avaliações
- ÁVILA, M. Dupla Consciência e Parataxe Como Conceitos Críticos PDFDocumento8 páginasÁVILA, M. Dupla Consciência e Parataxe Como Conceitos Críticos PDFcarrijorodrigoAinda não há avaliações
- Joao Alexandre BarbosaDocumento15 páginasJoao Alexandre BarbosaSwellen PereiraAinda não há avaliações
- No Último MinutoDocumento6 páginasNo Último MinutoThayssa MartinsAinda não há avaliações
- Resenha - O Autor Como ProdutorDocumento2 páginasResenha - O Autor Como ProdutorGabriel Augusto100% (1)
- Texto 08 - MOISES, Massaud. A Literatura Portuguesa. Barroco. Arcadismo - CompressedDocumento16 páginasTexto 08 - MOISES, Massaud. A Literatura Portuguesa. Barroco. Arcadismo - CompressedDani costa34Ainda não há avaliações
- Cobra NoratoDocumento7 páginasCobra Noratosimple18octoberAinda não há avaliações
- Luciene Azevedo - Estratégias para Enfrentar o Presente (Doutorado) PDFDocumento207 páginasLuciene Azevedo - Estratégias para Enfrentar o Presente (Doutorado) PDFDavi LaraAinda não há avaliações
- Gumbrecht - Lendo para A StimmungDocumento10 páginasGumbrecht - Lendo para A StimmungMatiasBarrios86Ainda não há avaliações
- Weinhardt 9788577982141Documento259 páginasWeinhardt 9788577982141Aline Santos SilvaAinda não há avaliações
- Bibliografia Iel2Documento4 páginasBibliografia Iel2Pepe da Rua XAinda não há avaliações
- Estado de Invenção - Helio Oiticica PDFDocumento35 páginasEstado de Invenção - Helio Oiticica PDFThiago TrindadeAinda não há avaliações
- Resume O Beijo de Lamourette 1Documento7 páginasResume O Beijo de Lamourette 1Jeremy DiosesAinda não há avaliações
- Literatura e NaçãoDocumento8 páginasLiteratura e NaçãoJh SkeikaAinda não há avaliações
- Glauco MattosoDocumento16 páginasGlauco MattosoEmanoel Pedro MartinsAinda não há avaliações
- Arlequim e ModernidadeDocumento21 páginasArlequim e Modernidadecesargiusti3842Ainda não há avaliações
- Antonio tabucchi: viagem, identidade e memória textualNo EverandAntonio tabucchi: viagem, identidade e memória textualAinda não há avaliações
- O Infiltrado: Benedicto Galvão: A Trajetória do Primeiro Presidente Negro da OAB/SP (1881 – 1943)No EverandO Infiltrado: Benedicto Galvão: A Trajetória do Primeiro Presidente Negro da OAB/SP (1881 – 1943)Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Várias tessituras: Personagens marginalizados da literaturaNo EverandVárias tessituras: Personagens marginalizados da literaturaAinda não há avaliações
- TEXTO 18 - A Historiografia Literária em Questão Maria Zilda FeDocumento9 páginasTEXTO 18 - A Historiografia Literária em Questão Maria Zilda FeLeonardo SoaresAinda não há avaliações
- Literatura Comentada PDFDocumento115 páginasLiteratura Comentada PDFLeonardo SoaresAinda não há avaliações
- Tese Rogerio Antonio Lopes PDFDocumento573 páginasTese Rogerio Antonio Lopes PDFLeonardo SoaresAinda não há avaliações
- SCHOPENHAUER, Arthur. Aforismos para A Sabedoria Da VidaDocumento298 páginasSCHOPENHAUER, Arthur. Aforismos para A Sabedoria Da VidaLeonardo Soares100% (1)
- A Escrita Como Resistência em António Lobo Antunes, Por Glaura Cardoso ValeDocumento21 páginasA Escrita Como Resistência em António Lobo Antunes, Por Glaura Cardoso ValeGlaura Cardoso GuaraniAinda não há avaliações
- Exercícios 05Documento3 páginasExercícios 05GilcineyJardimAinda não há avaliações
- Modelo - Plano Quinzenal - 2022Documento3 páginasModelo - Plano Quinzenal - 2022Elke_19760% (1)
- 139 - PMCE - Homologados DefinitivoDocumento1.698 páginas139 - PMCE - Homologados DefinitivoJhoney OliveiraAinda não há avaliações
- Panorama Do Livro de AtosDocumento4 páginasPanorama Do Livro de AtosCassiano Getulio de Mendonça100% (1)
- Atividades Adjunto Adverbial e CraseDocumento4 páginasAtividades Adjunto Adverbial e CraseDaniele ModaAinda não há avaliações
- Matemática 3 - Geo. AnalíticaDocumento22 páginasMatemática 3 - Geo. Analíticasayara cavalcante100% (1)
- Aula 1 L.a.-1Documento29 páginasAula 1 L.a.-1Juliana Santos100% (1)
- O Método Autobiográfico e Os Estudos Com Histórias de Vida de Professores - A Questão Da SubjetividadeDocumento20 páginasO Método Autobiográfico e Os Estudos Com Histórias de Vida de Professores - A Questão Da Subjetividadeiniciarfim0% (1)
- Deus Livra Daniel Na Cova Dos LeõesDocumento4 páginasDeus Livra Daniel Na Cova Dos Leõesmisael correiaAinda não há avaliações
- Autoestima Ou Auto-Estima - Pesquisa GoogleDocumento1 páginaAutoestima Ou Auto-Estima - Pesquisa Googleelvis fotosAinda não há avaliações
- Pet Vol 2 Anacleta (Daniela)Documento140 páginasPet Vol 2 Anacleta (Daniela)Jaqueline Jane SilvaAinda não há avaliações
- Luli Rojanski-ArtigoDocumento5 páginasLuli Rojanski-ArtigoAdriano SouzaAinda não há avaliações
- O Olho de Vidro Do Meu Avo - Projeto de Leitura - para o SiteDocumento8 páginasO Olho de Vidro Do Meu Avo - Projeto de Leitura - para o SitesolcdocarmoboanoiteAinda não há avaliações
- Apostila 01. Semântica. Denotação e Conotação. Dificuldade MédiaDocumento32 páginasApostila 01. Semântica. Denotação e Conotação. Dificuldade MédiaFelipe A Loures100% (1)
- Documento (2) (Recuperação Automática)Documento8 páginasDocumento (2) (Recuperação Automática)CuAinda não há avaliações
- Aula 4 INOPDocumento22 páginasAula 4 INOPbentoAinda não há avaliações
- Fichamento - O Papel Dos Materias Curriculares - ZabalaDocumento6 páginasFichamento - O Papel Dos Materias Curriculares - ZabalaNathan SouzaAinda não há avaliações
- Arquivo 5Documento12 páginasArquivo 5Fabricio FepAinda não há avaliações
- Literatur ADocumento18 páginasLiteratur AJuma ChaleAinda não há avaliações