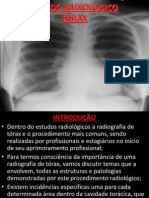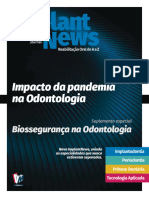Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Caderno de Enfermagem em Ortopedia
Caderno de Enfermagem em Ortopedia
Enviado por
Fernanda Camargo0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações37 páginasTítulo original
Caderno de Enfermagem Em Ortopedia
Direitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações37 páginasCaderno de Enfermagem em Ortopedia
Caderno de Enfermagem em Ortopedia
Enviado por
Fernanda CamargoDireitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 37
CADERNO DE ENFERMAGEM
Volume 2 - Maio 2009
Di r et or do I NTO
Dr. Geraldo Mot t a Filho
Coor denador de Ensi no e Pesqui sa
Dr. Srgio Eduardo Vianna
Coor denador da Uni dade Hospi t al ar
Dr. Naasson Cavanellas
Chef e da r ea de Enf er magem
Enf. I vanise Arouche
Consel ho edi t or i al
Enf. Ana Crist ina Silva de Carvalho
Enf. Alessandra Cabral de Lacerda
Enf. Dbora Galvo Moreira
Enf. Marisa Pet er
Enf. Roseluci Salles
Aut or es
Enf. Adriana Alves da Silva
Enf. Ana Valria Cezar Schulz
Enf. Andra Balbino Cost a
Enf. Brbara Regina Fernandes de Almeida
Enf. Brbara St ohler S. de Almeida
Enf. rika de Almeida leit e da Silva
Enf. Jamila Ferreira Miranda dos Sant os
Enf. Juliane de M. Ant unes
Enf. Raquel Cost a Rodrigues de Souza
Enf. Solange Araj o Melo Duart e
Enf. Snia Regina do Nasciment o Ferreira
ndice
1. I ntroduo 5
2.1 Centro de Ateno Especi al i zada em Ci rurgi as Crni o-Maxi l o-Faci ai s 6
2.2 Centro de Ateno Especi al i zada em Col una e Trauma Raquemedul ar 8
2.3 Centro de Ateno Especi al i zada em Ci rurgi a do Quadri l 11
2.4 Centro de Ateno Especi al i zado em Tratamento Ci rrgi co do Joel ho 13
2.5 Centros de Ateno Especi al i zada no Trauma Adul to e de Pel ve e Acetbul o 15
2.6 Centro de Ateno Especi al i zada no Trauma do I doso 17
2.7 Centro Ateno Especi al i zada em Ci rurgi a de Mo 20
2.8 O Servi o de Enf ermagem no Centro de Ateno Especi al i zada em Ci rurgi a de P e Tornozel o 22
2.9 Centro de Ateno Especi al i zada em Oncol ogi a Ortopdi ca 23
2.10 Centro de Ateno Especi al i zada em Mi croci rurgi a Reconstruti va 25
2.11 Centro de Tratamento Ortopdi co da Cri ana e do Adol escente 27
2.12 Enf ermagem na Cl ni ca da Dor 29
3. Diagnsticos de Enfer magem nos Centros de Ateno Especializada 31
4. Consider aes Finais 33
5. Referncias Bibliogrcas 34
2. O Gerenciamento do Cuidado nos Centros de Ateno Especializada
5 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
Os Cent ros de At eno Especializada
(CAE) do I nst it ut o Nacional de Traumat ologia
e Ort opedia (I NTO) foram criados em maio de
2006, a part ir da reorganizao assist encial
consolidada pelo novo Plano Diret or
I nst it ucional dest e mesmo ano. Est e se baseia
no conceit o de clnica ampliada do Sist ema
nico de Sade (SUS), no qual os usurios
do servio de sade so part icularizados e
sua vinculao equipe pot encializada,
corroborando ainda as diret rizes da Polt ica
Nacional de Humanizao (PNH).
Nest e sent ido os CAE so formados por
uma equipe mult idisciplinar da rea de sade,
incluindo: ort opedist as, clnicos, enfermeiros,
hsioterapeutas, nutricionistas, assistentes
sociais, psiclogos e t erapeut as ocupacionais.
Estes prohssionais estao alocados por
especialidade ort opdica, dest acando-
se: mo, p, coluna, quadril, t rauma do
adult o, t rauma do idoso, pelve e acet bulo,
microcirurgia reconst rut iva, j oelho, ombro,
hxador externo, tumor, cranio-maxilo-facial,
infant il e clnica da dor.
O enfermeiro do CAE o responsvel pelo
gerenciament o do cuidado aos usurios, desde
sua int ernao at a alt a t eraput ica. So
desempenhadas at ividades administ rat ivas
que incluem a criao de rot inas e prot ocolos,
com a hnalidade de sistematizar a assistncia
de Enfermagem especihca a cada Centro; e
reunioes tecnico-cientihcas, com apresentaao
de art igos sobre t emt icas referent es aos
CAE.
Nossa client ela compe-se
maj orit ariament e de usurios do Est ado do
Rio de Janeiro (98,78%), sendo 50,80% do
sexo masculino e +9,20 do sexo feminino,
em diferentes faixas etarias: crianas e
adolescentes ate 19 anos (1S,78); adultos
de 20 a S9 anos (63,+2) e idosos aps 60 anos
(20,80%). Est es usurios, em sua maioria,
so port adores de frat uras ou suas seqelas,
doenas crnico-degenerat ivas e anomalias
congnit as do sist ema msculo-esquelt ico
que necessit am de t rat ament o cirrgico de
alta complexidade (Relatrio de Gestao do
I NTO, 2006).
Sero apresent ados nos capt ulos
seguint es, o servio de enfermagem nos
CAE, est rut urado de acordo com os seguint es
temas: perhl do usuario atendido no !NTO,
principais cirurgias, cuidados de enfermagem
e diagnst icos de enfermagem. Para est e
caderno, as dehnioes e classihcaao dos
diagnst icos de enfermagem nos CAE foram
fundament adas de acordo com NANDA 2005-
2006 (NANDA, 2006).
1. I ntroduo
Enf ermei ras dos Centros de Ateno Especi al i zada do I NTO
6 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
I nt r oduo
A cirurgia cranio-maxilo-facial e uma
rea de at uao mdica para t rat ament o
cirrgico de deformidades congnit as e
adquiridas (frat uras, seqelas de frat uras,
t umores do esquelet o facial), bem como do
desenvolviment o dos ossos da face. Alm
disso, engloba 3 especialidades mdicas:
cirurgia plst ica, cirurgia de cabea e pescoo,
ot orrinolaringologia. Alm disso, possui grande
int erface com a especialidade da odont ologia,
buco-maxilo-facial.
A at uao da enfermagem no cuidado
aos pacientes submetidos a cirurgia cranio-
maxilo-facial, requer conhecimentos tecnicos
e cientihcos especializados que envolvam
aes visando o preparo pr-operat rio,
recuperao ps operat ria, preveno de
complicaes e preparo para o aut ocuidado.
necessrio considerar o pacient e em t oda sua
amplit ude bio-psico-social visando a promoo
do confort o necessrio recuperao da
sade, valorizando a carga emocional
que acompanha o pacient e no pr e ps-
operat rio, pois o est ado emocional repercut e
em fat ores favorveis ou desfavorveis na sua
recuperao.
Perhl dos pacientes atendidos
Segundo Nolileo (200+) as anomalias
craniofaciais est o ent re os defeit os
congnit os humanos mais freqent es e
demandam assist ncia mult idisciplinar int egral
e especializada.
O perhl de atuaao do Centro de Cirurgia
Cranio-Naxilo-Facial (CCCNF) e de pacientes
port adores de anomalias congnit as do
esqueleto facial; fraturas e seqelas de fraturas
de face; cistos e tumores dos maxilares;
reconstruao do esqueleto cranio-facial
(incluindo as microcirrgicas de mandbula
em conj unt o com o Cent ro de Microcirurgia
Reconst rut iva), cranioplast ias e o t rat ament o
de deformidades dent o-esquelt icas (cirurgia
ort ognt ica).
Principais cirurgias realizadas
Trat ament o cirrgico para frat uras
dos ossos da face (Redues cruent as com
osteossinteses);
- Ressecao de tumores dos maxilares
(com ou sem reconst ruo imediat a at ravs
de enxertos sseos) ;
Trat ament o cirrgico para seqelas
de frat uras (refrat uras, ost eossnt eses e
implantes);
Ort ognt ica Trat ament o de
deformidades dent o-faciais pela manipulao
da mandibula e maxila para a obtenao de
uma relao adequada dos dent es (ocluso
dent ria).
Reconst ruo microcirrgica de
mandbula em conj unt o com o Cent ro de
Microcirurgia.
As principais necessidades de int erveno
de enfermagem em pacient es do servio
de cirurgia cranio-maxilo-facial, estao
relacionadas s funes do sist ema
est omat ognt ico que se refere a um conj unt o
de est rut uras bucais que desenvolvem funes
comuns, t ais como suco, mast igao,
deglut io, fonao e respirao (MEDEI ROS,
2006).
A avaliao do pacient e aps a cirurgia
deve levar em consideraao a dihculdade em
realizar est as funes pelo desenvolviment o
freqente do edema, pela dihculdade imposta
pela hxaao inter-maxilar, pelos prejuizos
* Adr iana Alves da Silva Pereir a*
Especialista em Sade Pblica (ENSP-FI OCRUZ).
Residncia em Enfer magem Clnica-Cir r gica (HUPE-UERJ)
Membro da ABENTO
Centro de Ateno Especializada em Cir ur gias Cr nio-
Maxilo-Faciais
7 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
neurais t ant o a sensibilidade quant o
mot ricidade, que acomet em as est rut uras
envolvidas em t ais funes.
A abert ura bucal diminuda, associada
a dihculdade de preensao do alimento,
mast igao e deglut io, favorecem a
permanncia de aliment os na cavidade oral
dihcultando a higienizaao, o que se constitui
em fat or predisponent e a infeco. Deve ser
feit a a orient ao quant o higienizao oral
aps as refeies, at ravs de bochechos com
solues ant i-spt icas.
comum a reduo da amplit ude dos
moviment os mandibulares, no devendo ser
est imulada a abert ura bucal, t rat ament o est e
muit as vezes desenvolvido beira do leit o pela
fonoaudiloga da unidade de reabilit ao.
Torna-se fundament al a observao
cuidadosa da capacidade de deglut io
ao ofert ar os aliment os, at ravs de colher
ou seringa (diet a lquida). Alguns aut ores
consideram inadequado o uso de canudos
nas cirurgias ort ognt icas pela fora ant erior
empregada. (CAMPI OTTO, 1998).
A ocluso dent ria normal ou normocluso
(perfeit o relacionament o dos dent es superiores
com os inferiores) fundament al para
corret a mast igao e deglut io, evit andose
problemas de fala e da art iculao t emporo-
mandibular. Na normocluso, os dent es do
arco inferior devem est ar circunscrit os pelos
dent es do arco superior. A avaliao precoce
da ocluso dent ria no ps-operat rio imediat o
uma ao necessria para que possamos
garant ir que ocorra a consolidao ssea na
posio adequada.
Cui dados de Enf er magem:
Pr -oper at r i o
Realizar inspeo da cavidade oral
(presena de leses, dent io, higiene oral e
abertura bucal);
Orient ar quant o a ret irada da lent e
escleral, quando houver;
Orient ar quant o a ret irada da prt ese
dent ria.
Ps-oper at r i o
Trabalhar a comunicao no-verbal
(determinar cdigos para comunicaao);
Mant er a campainha ao alcance do
paciente;
Oferecer meios para a comunicao
escrita;
- Oferecer alimentos semi-liquidos;
- Supervisionar a aceitaao da dieta;
I nspecionar diariament e a boca quant o
a lesoes e inhamaoes;
Supervisionar a realizao da
higienizaao oral;
Desencoraj ar a respirao pela boca
(perda da umidade oral)
Orient ar quant o a corret a escovao e
importancia do uso de enxaguatrios;
- verihcar estado de hidrataao (mucosa
oral desidratada e mais vulneravel a lesoes);
- Umidihcar a regiao labial;
Realizar aspirao das Vias Areas
Superiores e cavidade bucal, quando
necessario;
- Nanter cabeceira elevada a 30;
- Auxiliar o paciente a posicionar-se
adequadamente para alimentar-se;
Supervisionar a aliment ao at
que no haj a mais perigo de sufocao ou
aspiraao;
- Nanter o aspirador prximo a unidade
do pacient e.
- Nanter alicate prximo a unidade do
paciente (em caso de hxaao inter maxilar);
Est imular a lavagem das fossas nasais
com SF 0.9 aps a retirada dos tampoes;
No ret irar o t ampo nasal. Trocar
apenas o curat ivo secundrio bigode ( em
rinoplast ias )
- Realizar crioterapia (72 horas);
- Oferecer alimentaao (friosfliquidos);
Prot eger a pele do gelo (risco de
8 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
queimaduras)
- verihcar a oclusao dentaria;
Orient aes para alt a
Orient ar o pacient e e familiar quant o
aos cuidados com a ingestao alimentar;
- Realizaao de crioterapia (nas 72h);
- Evitar exposiao ao sol;
Reforar orient aes quant o a
higienizaao oral cuidadosa;
Uso corret o dos medicament os
prescritos (administraao e conservaao);
Observao quant o aos sinais e
sintomas de complicaoes;
Ret orno ambulat orial.
Centro de Ateno Especializada em Coluna e Tr auma
Raquemedular
Sonia Regina do Nascimento Fer reir a*
*Especialista em Enfer magem do Tr abalho (Univer sidade So Camilo)
Membro da ABENTO
I nt r oduo
A coluna vert ebral forma uma sust ent ao
forte, mas hexivel para o tronco, possuindo
import ant e papel na post ura, na sust ent ao
do peso do corpo, na locomoo e na prot eo
da medula espinhal e das razes nervosas.
Estende-se a partir da base do cranio atraves
do pescoo e do t ronco. As vrt ebras so
est abilizadas por ligament os que limit am os
moviment os produzidos pelos msculos do
t ronco. A medula espinhal, razes dos nervos
espinhais e seus revest iment os, denominados
meninges, est o sit uados dent ro do canal
vert ebral, que formado pelos forames
vert ebrais em vrt ebras sucessivas. Os
nervos espinhais e seus ramos est o sit uados
fora do canal vertebral, exceto pelos nervos
menngeos, que ret omam at ravs dos forames
int ervert ebrais para inervar as meninges
espinhais. (SI Z NI O, 1998).
O t rauma raquemedular o conj unt o de
alt eraes conseqent es ao de agent es
fsicos sobre a coluna vert ebral e aos
element os do sist ema nervoso cont idos em
seu int erior. As maiorias das leses medulares
graves cont inuam sendo irreversveis do pont o
de vist a funcional. Sua abordagem limit a-se
a preveno e t rat ament o das complicaes
( TASHI RO e cols., 2001).
Perhl dos pacientes atendidos
O t rauma raquemedular incide
em pacient es j ovens, ent re 18 e 35 anos,
majoritariamente do sexo masculino, de
et iologia t raumt ica causado por acident es
de transito, perfuraao por arma de fogo
e mergulho em guas rasas (SPOSI TO e
cols.,1986; SANTOS, 1989; FARO,1991).
Tr auma r aquemedul ar
A leso medular t raumt ica ocorre quando
um event o result a em leso das est rut uras
medulares, int errompendo a passagem do
est imulo nervoso at ravs da medula. A leso
pode ser complet a ou incomplet a.
A medula espinhal organizada em
segmentos ao longo de sua extensao. Raizes
nervosas de cada segment o inervam regies
especihcas do corpo, como descrito abaixo:
os segment os da medula cervical (C1 a
C8) cont rolam a sensibilidade o moviment o da
regiao cervical e dos membros superiores;
segment os t orcicos (( T1 a T12)
controlam o trax, abdome e parte dos
membros superiores);
segment os lombares (L1 a L5) est o
relacionados com moviment os e sensibilidades
9 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
Espondi l ol i st ese
caract erizado por um deslizament o ou
deslocament o ant erior ou post erior de uma
vrt ebra em relao a out ra. O canal medular
comea a hcar progressivamente mais estreito
e h sempre o risco de compresso medular.
Existem 3 causas basicas: falha congnita,
amolecimento inhamatrio de um ligamento
da vrt ebra e inst abilidade por t rauma
(disponvel em ht t p: / / www.colunasaudavel.
com.br/ conheca/ espondilolist ese.ht m).
Hrnia de disco
Na hrnia de disco, ocorre o deslocament o
do ncleo, a part e int erna do disco
int ervert ebral at ravs de uma rupt ura do
anel hbroso, a parte externa do disco. O
fragment o do ncleo que escapa do disco
pode comprimir uma raiz nervosa. A hrnia
de disco est relacionada a vrios fat ores,
t ais como: est rut ura gent ica do indivduo,
at ividade fsica, peso, t ipo de t rabalho e
out ros (disponvel em www.cirurgiadacoluna.
com.br/ doenca_da_coluna.ht m).
Fi gura 1- Dermtomos e regi es sensori ai s
Col una normal
Col una com escol i ose
nos membros inferiores;
os sacrais (S1 a S5) cont rolam part e
dos membros inferiores, sensibilidade da
regiao genital e funcionamento da bexiga e
int est ino.
Principais patologias
Escoliose
quando a coluna apresent a uma curva no
plano das cost as. A escoliose pode apresent ar
uma curva em C ou uma dupla curva em
S. A escoliose pode t er vrias causas, porm
a mais comum a escoliose dit a idiopt ica,
sem causa dehnida, que se manifesta ainda na
infancia ou puberdade (Disponivel em www.
magnaspine.com.br/ escoliose.ht m).
10 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
Principal cirurgia
Artrodese: uma cirurgia que hxa vertebras
vizinhas com uma pont e de osso, mant endo-
as alinhadas, est veis e fort es. So ut ilizados
materiais de hxaao, como parafuso de titanio
ou espaadores, para aument ar os ndices de
sucesso da fuso ssea.
Cui dados de Enf er magem
A assist ncia de enfermagem ao pacient e
com leso medular ou out ras pat ologias da
coluna vert ebral deve ser individualizada
e sist emat izada, vist o que est e pacient e
apresenta dihculdades de adaptaao a
sua nova condio e de reint egrao a sua
rot ina de vida pessoal, familiar e social.
Durant e a hospit alizao, alguns cuidados
devem ser t omados acerca do quadro clnico,
considerando limit aes da mobilidade,
eliminaoes hsiolgicas, risco aumentado
para desenvolviment o de lceras por presso,
caract erst icas da dor e risco de infeco.
Alm dest es cuidados, o processo de
reabilit ao deve ser iniciado ainda durant e
a hospit alizao, visando a adapt ao do
pacient e sua nova condio e preparando
os familiares e cuidadores. De acordo com
MANCUSSI (1998), o processo de reabilit ao
deve focar o binmio pacient e/ famlia para
assegurar a cont inuidade dos cuidados
planej ados e prevenir possveis complicaes.
Assim, o enfermeiro t em um papel fundament al
no s na assist ncia, como t ambm na
preparao do pacient e e familiar no processo
de alt a hospit alar.
Pr -oper at r i o
- Realizar exame fisico ortopedico
(est abilidade, mobilidade, fora muscular,
sensibilidade, circulao perifrica, leses
cutaneas, controle eshncteriano);
I mplant ar aes de acordo com os
achados no exame fisico;
- !ncentivar a pratica de exercicios
hsioterapicos preventivos;
- Prevenir as ulceras por pressao;
Programar mudana de decbit o
do pacient e em bloco, observando suas
limitaoes;
Pacient es em uso de t rao devem
ser mobilizados a cada 2 horas com perodos
curtos de decubitos por area;
- Avaliar a ehcacia da traao (peso
adequado, posicionamento, relato de dor);
- Oferecer suporte emocional;
Est imular o pacient e a realizar as
at ividades de aut ocuidado, para promover o
sent iment o de independncia e cont role da
situaao;
- Oferecer ao paciente explicaao clara
e concisa sobre qualquer t rat ament o ou
procediment o a ser realizado.
Ps-oper at r i o
Mant er o pacient e em Fowler (30o), de
acordo com orient ao mdica.
- Evitar hexao, inclinaao lateral e
rotaao do tronco;
Mudar de decbit o em bloco, a part ir
do 1o dia de ps-operat rio, respeit ando a
tolerancia;
Realizar ort ost ase e marcha com
auxilio a partir do 2o dia aps a cirurgia, sob a
supervisao do hsioterapeuta e de acordo com
orientaao medica;
Relat ar as alt eraes sent idas pelo
paciente durante as atividades;
Orient ar o pacient e quant o s rest ries
de movimentos aps a cirurgia;
(http://www.ci rurgi adacol una.com.br/)
11 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
Trocar curat ivo cirrgico e descrever
seu aspecto;
At ent ar para sinais de complicaes,
principalment e infeco.
Avaliar e regist rar caract erst icas da
dor;
Orient ar e observar o aprendizado do
pacient e e cuidador quant o ao aut ocat et erismo,
quando necessrio.
Al t a hospi t al ar
Orient ar o pacient e e familiar quant o
aos cuidados em domicilio, enfat izando o
aut ocuidado, aliment ao, hidrat ao e
higiene corporal;
- Evitar hexao, inclinaao lateral e
rotaao do tronco;
Realizar t roca de curat ivo cirrgico em
domiclio, de acordo com as orient aes de
alta hospitalar;
Orient ar a observao de sinais de
complicaoes;
Avaliar e reforar aprendizado
do pacient e e cuidador quant o ao
autocateterismo;
Orient ar quant o a manobras de
eliminaes int est inais, como Crede e
valsalva;
Orient ar sobre a int egridade da pele,
enfat izando a hidrat ao e preveno de
lceras por presso em domiclio.
Centro de Ateno Especializada em Cir ur gia do Quadr il
Solange Ar aj o Melo Duar te*
* Especialista em Controle de I nfeco Hospitalar (UGF)
Membro da ABENTO
I nt r oduo
O Cent ro de At eno Especializada em
Cirurgia do Quadril foi criado com o obj et ivo
de uniformizar a assist ncia prest ada aos
client es com pat ologias nos ossos do quadril.
O papel do Enfermeiro prest ar um
at endiment o de qualidade ao client e diant e do
procediment o cirrgico ort opdico e ser um
elo com a equipe mult idisciplinar do Cent ro
de At eno Especializada.
Perhl dos pacientes atendidos
No ano de 2007, foram realizadas 62+
cirurgias, havendo aument o em relao aos
anos anteriores, devido a demanda da hla de
espera. Sao cirurgias de alta complexidade,
que envolvem a ut ilizao de prt eses e
enxertia ssea.
A predominancia dos pacientes admitidos
foi do sexo masculino, com idade superior
a 50 anos. O diagnst ico mais comum a
coxartrose, sendo a dor e limitaoes dos
moviment os os achados mais comuns. Alm
disso, comum a ocorrncia de doenas
degenerat ivas art iculares em virt ude do
aumento da expectativa de vida da populaao
brasileira.
Principais patologias
As lesoes do quadril podem ser dehnidas
como idiopt icas (quando de et iologia
desconhecida), t raumt ica (quando decorre
de traumas regionais, das luxaoes e dos
procediment os cirrgicos), e at raumt ica
(quando acont ecem por out ras condies
pat olgicas, como: art rit e reumat ide, doena
de Gaucher, lpus erit emat oso sist mico, e
out ros).
A leso do quadril, como a ost eonecrose
da cabea do fmur e o desgast e art icular,
grave caract erizando-se por compromet iment o
da mot ricidade (marcha claudicant e), dor
insidiosa com episdios int ermit ent es e
12 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
rot ao int erna dolorosa. (HEBERT, 2003).
Principais cirurgias
A art roplast ia uma cirurgia de
reconst it uio da art iculao pela subst it uio
por prt ese, que pode ser t ot al ou parcial.
Quando a art roplast ia t ot al, ocorrem a
remoo de t oda a cabea e de part e do colo
do fmur e a remodelagem do acet bulo,
com est abilizao desses component es no
osso pela adapt ao sob presso ou com uso
de ciment o. Na parcial, subst it uda apenas
uma das superfcies art iculares, a femural
ou a acet abular. Os obj et ivos principais da
art roplast ia so o alvio da dor, a rest aurao
e a melhora da funo art icular. Embora a
durao de art roplast ias alm de 15 a 20 anos
ja seja relatada, e mais seguro ahrmar que a
mdia de durao de uma art roplast ia de 10
anos. (Vent ura, 1996).
Cui dados de Enf er magem
O papel do enfermeiro do Cent ro de
At eno Especializada em Cirurgias do Quadril
prest ar uma assist ncia de qualidade com
aes desenvolvidas nos procediment os que
se seguem:
Pr -oper at r i o
Orient ar o client e quant o as rot inas
do pre-operatrio, checando os exames
laboratoriais e de radiodiagnstico;
Orient ar o client e quant o ao ps-
operat rio, minimizando sua ansiedade em
relaao ao procedimento a ser realizado;
- Observar e identihcar riscos para
complicaes.
Ps-oper at r i o
Avaliar se o client e apresent a grau de
risco para o desenvolviment o de lceras por
presso, segundo escala de WATERLOW, e
realizar a prevenao;
Avaliar o grau de dor no ps-operat rio
imediat o e comunicar a equipe de enfermagem
para administrar a medicaao prescrita;
Avaliar perfuso e dbit o de dreno
hemovac;
- Orientar quanto ao uso do triangulo
abdut or ent re os membros inferiores para
evitar luxaao da prtese;
Orient ar quant o ao uso do t rapzio a
hm de facilitar a mobilizaao no leito durante
os procedimentos;
Observar a presena de edema, dor e
rubor no membro operado, avaliando o risco
de TvP (trombose venosa periferica);
Orient ar o pacient e quant o ao risco
de luxaoes (deslocamento da prtese) por
movimentos bruscos e inadequados;
Observar o aspect o da ferida operat ria
e sinais de infecao;
Observar se o client e deambulou com
aj uda do Fisiot erapeut a (t reino de marcha
com andador e muletas);
Evoluir e regist rar em pront urio as
aes desenvolvidas.
Alta teraputica:
Fornecer o sumrio de alt a, informando
a dat a do ret orno ambulat orial, para reviso
cirurgica e retirada de pontos;
Orient ar quant o realizao do curat ivo
diario (com alcool 70);
Orient ar sobre as medicaes prescrit as:
Fonte: www.ci rurgi adoquadri l .com.br
13 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
analgesicos efou anti-inhamatrios);
Orient ar sobre o uso de ant icoagulant e
(Enoxaparina), demonstrando a tecnica de
aplicaao;
I nformar sobre o forneciment o das
muletas;
Preencher o formulrio de avaliao e
educaao de pacientes;
Evoluir e regist rar em pront urio as
Centro de Ateno Especializado em Tr atamento
Cir r gico do Joelho
Br bar a Regina Fer nandes de Almeida*
*Especialista em Auditor ia no Sistema de Sade (UNESA)
Membro da ABENTO
I nt r oduo
O Cent ro de At eno Especializada em
t rat ament o cirrgico de leses no j oelho t em
como diferencial a dinamica do atendimento
dispensado ao grande nmero de pessoas que
chegam nest a unidade hospit alar necessit ando
de assist ncia especializada. A propost a
oferecer ao pacient e t rat ament o conservador
ou cirurgico com ehcincia vinculado ao
acompanhament o ambulat orial, cirrgico
e de reabilit ao. Assim, esses client es so
inseridos no grupo de cirurgias de j oelho.
O Cent ro foi criado com o obj et ivo prest ar
assist ncia de enfermagem adequada nos
perodos pr e ps-operat rio de cirurgia no
joelho, auxiliando na recuperaao do cliente
e preveno de complicaes, cont ribuindo
para reduo do t empo de permanncia no
hospit al.
Perhl dos pacientes atendidos
No ano de 2007 foram realizados 10+3
procediment os pelo Cent ro de At eno
Especializada do Joelho.
A populao at endida inclui pessoas de
ambos os sexos e de faixa etaria diversihcada.
Os pacient es que procuram t rat ament o
mdico em razo do compro met iment o da
capacidade funcional dos j oelhos t m crescido
signihcativamente, uma vez que, a funao
do j oelho pode ser gravement e afet ada por
processos inhamatrios, degenerativos ou
por t raumas.
As cirurgias de art roplast ia de j oelho so
mais realizadas em adult os com idade ent re 50
e 80, geralment e acomet ida por leses ost eo-
articulares inhamatrias e degenerativas ou
com out ras co-morbidades.
As cirurgias de ligament oplast ias so mais
realizadas em adult os j ovens, est ando est as
ligadas s at ividades esport ivas em at 85%
dos casos, mais comument e afet ando pessoas
do sexo masculino com faixa etaria entre 20
e +0 anos de idade. O tratamento de um
client e com uma leso aguda do ligament o
cruzado anterior (LCA) e inhuenciado por
diversos fat ores, como a idade, ocupao,
nvel de part icipao desport iva e leses
int ra-art iculares. Geralment e, sugerida a
realizao da reconst ruo do ligament o em
indivduos at let icament e mais at ivos.
A art roscopia possibilit a t rat ament o
cirrgico de vrias pat ologias. Nest es casos,
nao e possivel traar um perhl que dehna
faixa etaria, sexo do paciente e tipos de lesoes
mais comuns.
A art rodese de j oelho realizada
em pacient es com perda ssea e falha
na art roplast ia t ot al de j oelho (ATJ) por
infeco.
Principais procedimentos
Ar t r opl ast i a t ot al de j oel ho ( ATJ)
a subst it uio da art iculao afet ada ou part e
1+ C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
dela por um disposit ivo met lico (prt ese) com
a hnalidade de recuperar a funao articular.
Li gament opl ast i a Podem ser feit as
de quat ro maneiras: at ravs de reparao
primaria, reconstruao extra-articular,
reconst ruo int ra-art icular ou a combinao
das duas. Na maioria das vezes possvel
utilizar um enxerto autlogo (tendao do
prprio client e).
Artroscopia a t cnica cirrgica em que
uma pequena inciso permit e int roduzir uma
ptica no nivel da articulaao. A exploraao
dessa art iculao prat icada at ravs de pinas
miniat uras que so manipuladas at ravs do
vdeo.
Ar t r odese a fuso proposit al das
extremidades distal do fmur e proximal
da t bia, criando uma sit uao de rigidez
permanent e. Esse procediment o pode ser
realizado atraves de hxaao interna ou
externa.
Ost eot omia a seco cirrgica de um
osso, t cnica geralment e ut ilizada para a
correo de j oelhos valgo e varo.
Cui dados de Enf er magem
Pr -oper at r i o
Orient ar quant o a rot ina pr-
operatria;
Avaliar as necessidades de cada client e
para elaborao de um plano assist encial
individualizado;
- Observar e identihcar complicadores
que possam gerar riscos;
- verihcar no prontuario todos os exames
pr-operat rios e risco cirrgico com regist ro
dos mesmos;
Orient ar sobre a escala de dor e sua
avaliaao;
Esclarecer dvidas do procediment o
cirrgico a ser realizado.
Ps-oper at r i o
- Realizar exame fisico cefalo-caudal,
observando: acesso venoso, curat ivo, membro
operado, dreno e cateter vesical de demora;
Mant er membro operado imobilizado
com curativo compressivo;
Monit orar os sinais vit ais de acordo
com as condioes clinicas do paciente;
At ent ar para complicaes
anestesicas;
- verihcar perfusao periferica, pulso
pedioso, mot ricidade e sensibilidade no
membro afetado periodicamente;
Alert ar a equipe de enfermagem
no aplicar medicament os via parent eral no
membro operado;
Observar e regist rar volume e
caracteristica do exsudato no dreno;
Observar a presena de sangrament o
ativo pelo curativo;
- verihcar prescriao do ps-operatrio
imediato;
- Observar as condioes das extremidades
Fonte: www.sbcj .com.br
Fonte: www.l i gamentopl asti a.com.br
15 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
do membro operado visando det ect ar algum
sinal de complicao (cianose, edema, calor,
rubor, hematoma e dor intensa);
Aps a ret irada da imobilizao, fazer
curat ivo dirio com t oques de SF 0,9% e
lcool a 70%, observando a evoluo da
ferida cirurgica;
Orient ar o pacient e quant o a
importancia da mobilizaao no leito e ajuda-lo
quando ist o no for possvel. No deit ar sobre
o lado operado;
Preparar o pacient e para alt a com
as devidas orient aes, agilizando t odo o
processo.
Avaliar j unt o a equipe sobre a
necessidade de at endiment o pela visit a
domiciliar aps sua alta;
Regist rar em pront urio.
Alta teraputica
Orient ar quant o aos procediment os
domiciliares (curat ivo, medicao prescrit a e
autocuidado);
Orient ar quant o ao laudo mdico e
sumario de alta;
Orient ar quant o ao ret orno
ambulatorial;
Comunicar ao servio de visit a domiciliar
caso sej a solicit ado acompanhament o.
Preencher o impresso de avaliao e
educaao de pacientes;
Regist rar em pront urio as at ividades/
aoes desenvolvidas;
Orient ar quant o ao uso de mulet as,
solicitando auxilio se necessario;
Orient ar quant o ao uso de
imobilizador.
Centros de Ateno Especializada no Tr auma Adulto e de
Pelve e Acetbulo
Raquel Costa Rodr igues de Souza*
*Membro da ABENTO
I nt r oduo
A rea de cirurgia do t rauma ort opdico
do I NTO responsvel pelo at endiment o de
pacientes que sofreram fraturas e luxaoes
do aparelho locomot or. So casos graves,
decorrent es de foras violent as, e podem
det erminar deformidades e seqelas em
funo das complicaes imediat as e t ardias.
Alm disso, referncia no at endiment o
de pacient es port adores de leses t raumt icas
da pelve e acet bulo -ossos que compem a
cintura pelvica- segmento de vital importancia
do aparelho locomot or, que une a coluna
vert ebral aos membros inferiores.
A misso primordial do Cent ro do Trauma do
Adult o e da Pelve e Acet bulo o at endiment o
de casos complexos, caracterizados por
mlt iplas frat uras, decorrent es de t raumas
de alt a energia, onde se faz necessrio a
int erveno cirrgica.
Perhl dos pacientes atendidos
O cent ro de t rauma adult o assist e a
populaao de adultos jovens na faixa etaria
entre 18 a S9 anos, com predominancia do
sexo masculino. Geralmente vitimas de trauma
de alt a energia, t endo como causa base o
acident e aut omobilst ico, at ropelament os e
quedas.
No ano de 2007 foram realizadas cerca de
1110 cirurgias. O t empo mdio de int ernao
e de aproximadamente trs dias, podendo
est ender-se de acordo com as condies
clinicas do pacient e, procediment o cirrgico
e complicaes (Relat rio de Gest o anual do
I NTO, 2007).
16 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
Principais procedimentos
A escolha do metodo de hxaao ssea vai
depender de vrios fat ores, os quais chamamos
de personalidade da frat ura. Para a t omada de
deciso, necessrio avaliar o padro, o t ipo
de frat ura, o grau de cominuio, a localizao
anat mica, grau de leses de part es moles, a
cont aminao, o est ado geral do pacient e e o
t empo de evoluo desde o acident e.
Fixaao externa: Pinos sao colocados
atraves da pele e hxados no osso (hgura 1).
Os pinos so conect ados ent re si com uma ou
mais barras ou anis (PASCCOAL, 2002).
A indicaao principal para uso do hxador
externo e nas fraturas expostas, sobretudo
naquelas que t enham leso de part es moles
associadas, bem como perdas sseas,
facilit ando a realizao dos curat ivos e
evoluao das feridas. (hgura1). Tambem
pode ser usado como opo de t rat ament o
nas frat uras cominut ivas e segment ares
em pacient es que precisam ser mobilizados
precocemente (PASCCOAL, 2002; HEBERT 8
XAVI ER, 2003).
Fi xao i nt er na: A fratura e hxada com
algum t ipo de implant e - placa de met al, hast e
intramedular, hos de ao ou pinos de ao
(chamados de hos de Kirshner)- conhecida
como ost eossnt ese int erna.
A principal indicao da ost eossnt ese com
placas e parafusos a impossibilidade do uso
de hxador externo ou de hxaao intramedular.
Sua vant agem est na possibilidade da reduo
anat mica e est abilizao rgida e imediat a
da frat ura. As desvant agens incluem a ampla
disseco necessria para a colocao da
placa, alem da exposiao do foco da fratura
(PASCCOAL, 2002).
A hxaao intramedular com hastes
apresent a a grande vant agem de est abilizar
a frat ura sem a abert ura do foco da frat ura,
ut ilizando uma abordagem menos agressiva,
evitando amplas incisoes (HEBERT 8 XAv!ER,
2003).
Cui dados de Enf er magem
O alto grau de complexidade e abrangncia
que envolve o cuidado a est e t ipo de pacient e,
exige da enfermagem aoes articuladas,
int egradas e cont nuas. Faz-se necessrio
um processo de enfermagem adequado
que organize e sist emat ize o cuidado de
enfermagem.
Pr -oper at r i o
Colher uma hist ria det alhada, incluindo
o mecanismo de lesao, fazendo um exame
completo da extremidade afetada a procura
de edema, hemat oma, crepit ao, perda
da funo, deformidade, descolorao da
pele, posio alt erada e mobilidade anormal
do membro afet ado, alm de abrases,
laceraes, at ent ando para a int egridade do
envoltrio e de partes moles;
- A perfusao tecidual das extremidades
deve ser avaliada, assim como a funo dos
nervos. Deve-se fazer um exame neurolgico
incluindo uma avaliao mot ora e sensit iva
dos nervos, at ent ando para episdios de
dor int ensa, fraqueza ou parest esias que
podem ser indicat ivo de isquemias (HEBERT
8 XAv!ER, 2003);
Avaliar est ado emocional do pacient e,
oferecendo medidas de confort o, esclarecendo
dvidas, ensinando medidas prevent ivas de
complicaes no ps-operat rio (SANTOS,
200S);
- Checar risco cirurgico e exames
solicit ados. Planej ar, implement ar e avaliar as
Fi gura 1. Fi xao externa
17 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
aes assist enciais para o preparo do pacient e
de acordo com o t ipo de cirurgia ( TASHI RO,
2001).
Ps-oper at r i o
- Realizar exame fisico ps-operatrio,
incluindo avaliao do membro operado
para det ect ar a presena de complicadores,
mant endo-o em posio anat mica
confortavel;
Est ar at ent o em relao aos curat ivos
para sinais de sangrament o, dor, hemat omas,
deiscncia, alt eraes na perfuso perifrica
e edema de extremidade (DONAHOO, 2001);
O dreno de suco normalment e
retirado entre 2+ a +8 horas aps a cirurgia, tem
como obj et ivo evit ar possveis hemat omas que
possam int erferir no processo de cicat rizao
da ferida;
O cat et erismo vesical realizado em
cirurgias longas e sempre quando se faz
necessrio a monit orao do dbit o urinrio.
Normalment e a sonda ret irada no primeiro dia
aps a cirurgia, se o pacient e no apresent ar
nenhuma intercorrncia (TASH!RO, 2001);
A reabilit ao ps-operat ria consist e
na aplicaao de foras externas na forma de
exercicios, modalidades teraputicas e rteses
que irao inhuenciar o processo de remodelaao
dos ossos e dos t ecidos adj acent es leso,
tendo como objetivo hnal a recuperaao da
funao do membro traumatizado;
- Deve-se elevar a extremidade operada,
facilit ando o ret orno venoso e linft ico
prevenindo o edema. Exercicios ativos para
os dedos, massagem ret rograda no sent ido
distal para proximal auxiliam na reabilitaao
(HEBERT 8 XAv!ER, 2003).
Alta teraputica
O planej ament o da alt a t em como
obj et ivo preparar o pacient e e a famlia para a
continuidade do cuidado em um novo contexto.
Sua hnalidade e prover uma transferncia
segura, evitando dihculdades para o paciente,
seus cuidadores e, consequent ement e,
cont eno dos cust os para o sist ema de sade
(SANTOS, 200S);
Mediant e a alt a, o pacient e orient ado
quant o ao posicionament o corret o do membro
operado, a mant er as art iculaes livres com
moviment os at ivos e passivos que previnem
o edema e a dor. orient ado t ambm
a prot eger o membro durant e a higiene
corporal; quanto a realizaao do curativo e
quanto a importancia do retorno em caso de
complicaes (BRUNNER, 2005).
Brbara Stohl er Sabena de Al mei da
* Especi al i sta em Cl ni ca Mdi ca e Ci rurgi a Geral (UNI RI O)
Membro da ABENTO / SOBENFeE
Centro de Ateno Especializada no Tr auma do I doso
I nt r oduo
O Cent ro de At eno Especializada no
Trauma do I doso (CAETI ) formado por
uma equipe int erdisciplinar cuj as aes est o
volt adas para o t rat ament o, a reabilit ao e
a manut eno da sade para est a parcela da
populao, paut ados no cuidado diferenciado
e especihco.
O Servio de Enfermagem do CAETI realiza
o gerenciament o do cuidado do dos usurios
e t em por obj et ivos:
prest ar assist ncia de qualidade,
especihca as necessidades do idoso;
- zelar pela ehcacia da assistncia
oferecida;
promover a recuperao/ reabilit ao
da capacidade funcional do idoso;
ser agent e facilit ador da int erao na
equipe multidisciplinar;
capacit ar recursos humanos em
enfermagem;
18 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
gerar conheciment os sobre a assist ncia
de enfermagem ao idoso
promover a humanizao do
at endiment o.
Perhl dos pacientes atendidos
O Cent ro de Trauma do I doso assist e a
populao com idade igual ou superior a 60
anos vt imas de t rauma, dando prioridade ao
tratamento das fraturas do tero proximal do
fmur. A causa mais comum dest e t ipo de
frat ura a queda da prpria alt ura, responsvel
por aproximadamente S0 das internaoes
no I nst it ut o Nacional de Traumat ologia e
Ort opedia (I NTO). A segunda met ade das
int ernaes engloba frat uras dos t eros medial
e dist al do fmur, t bia, membros superiores e
procediment os diversos - ret irada de mat erial
de snt ese, curat ivo cirrgico, et c - (Relat rio
de Gest o I NTO 2007).
Nossa client ela maj orit ariament e do
sexo feminino (cerca de 70) e apresenta
em mdia duas co-morbidades. O t empo
mdio de int ernao de cinco dias podendo
est ender-se de acordo com o est ado clnico do
client e e sua reabilit ao (Relat rio de Gest o
do I NTO 2007).
Principais procedimentos
As fraturas do tero proximal do
fmur (Figura 01) incluem as do colo, as
t ranst rocant erianas e as subt rocant erianas.
Fi xao I nt er na: Fixaao da fratura
com dispositivos: placafparafuso, hos de
Kirshner ou haste intramedular, conhecida
como ost eossnt ese. I ndicada no t rat ament o
cirrgico das frat uras t ranst rocant erianas
e subt rocant erianas que at ingem
aproximadamente de 10-30 da populaao
idosa. Seu obj et ivo rest it uir a funo
e a anat omia regional com o mnimo de
seqelas.
Ar t r opl ast i a: a subst it uio prot t ica
do(s) component e(s) art icular(es) do quadril,
podendo ser parcial (soment e um component e
subst it udo) ou t ot al (subst it uio de
ambos os component es). Sendo ut ilizadas na
reparao cirrgica das frat uras do colo do
fmur, que represent am a principal causa de
hospit alizao aguda ent re idosos.
Cui dados de Enf er magem
O enfermeiro no CAETI responsvel pelo
gerenciament o do cuidado prest ado ao idoso
desde sua int ernao at a alt a t eraput ica,
assegurando seu acesso, seu acolhiment o,
o aument o da capacidade resolut iva e a
ampliao do seu grau de aut onomia at ravs
do dialogo e orientaao dos prohssionais da
equipe, com responsabilizao e compromisso
social.
Suas at ividades/ aes so realizadas de
acordo com o huxo que o usuario segue ao
dar ent rada na inst it uio: int ernao/ pr-
operat rio, ps-operat rio e alt a t eraput ica.
Pr -oper at r i o
Hist ria clnica aspect os biolgicos,
psiquicos, funcionais e sociais;
- Exame fisico direcionado - avaliaao
da capacidade funcional e de aut ocuidado,
ort opdica e da pont uao obt ida na escala
de risco de Wat erlow para desenvolviment o
de ulceras por pressao (UP);
I mplant ao de medidas para
prevenao de UP;
Solicit ao de avaliao das UP e
Fi g. 01-Tero Proxi mal do Fmur
(http//:www.f otosearch.com)
19 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
conduta pelo Servio de Curativos;
At ent ar para as alt eraes do nvel de
conscincia (Delirium, Demncia);
- verihcar a realizaao dos exames pre-
operatrios;
Promover a part icipao ideal nas
atividades;
Orient ar o usurio e cuidador/ familiar
sobre as rotinas institucionais;
Educao permanent e sobre os
cuidados intra e extra hospitalares ao usuario
e cuidador/ familiar.
Est as avaliaes const it uem o processo
de diagnst ico mult idimensional, a part ir
do qual sero est abelecidas condut as ou
encaminhamentos para a assistncia especihca
s necessidades surgidas.
Ps-oper at r i o
Exige um planejamento cuidadoso,
demandando condut as diferenciadas que
favoream o processo de reabilit ao e
minimizem o risco de perda do procediment o
cirrgico e complicaes. Aos dados colet ados
na int ernao somam-se os provenient es
da avaliao ps-operat ria, que sero a
base do planej ament o e das aes, volt adas
principalment e educao do usurio e seu
familiar/ acompanhant e para cont inuidade dos
seguint es cuidados:
- Realizar exame fisico ps-operatrio
(avaliaao do membro operado);
Mant er o membro operado em posio
anatmica confortavel;
Realizar o curat ivo e avaliar para sinais
de: sangrament o, dor, hemat omas, deiscncia
e edema;
Comunicar a equipe ort opdica sobre
os complicadores e complicaoes detectados;
- Elevar a extremidade operada
(facilitando o retorno venoso);
Promover mobilidade e moviment o
ideal;
At ent ar para as alt eraes do nvel de
conscincia (Delirium, Demncia);
Avaliar cat et eres e drenos para
funcionamento e sinais hogisticos;
- Promover segurana;
I mplement ar medidas prevent ivas de
UP;
Monit orar os usurios em alt o risco
para infecao;
I nvest igar a respost a medicao
analgesica e acionar a clinica da Dor;
Avaliar necessidade de Visit a
Domiciliar
Alta teraputica
Corresponde ao periodo de verihcaao
do alcance das met as est abelecidas no
planej ament o assist encial no que t ange:
Aos cuidados domiciliares com o membro
operado (posicionament o, mobilizao, sinais/
sintomas de complicaoes);
Realizao de curat ivo da ferida
operatria;
- Uso de medicaoes;
- Cuidados com a pele;
- Cuidados com a alimentaao;
- !ngestao adequada de liquidos;
- Nudana de decubito;
- Uso de aliviadores de pressao;
- !mportancia do retorno ambulatorial.
20 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
I nt r oduo
O Cent ro de Especialidade de Cirurgia de
Mo at ende a client es com compromet iment o
nas mos que necessit em de t rat ament o
cirurgico de alta complexidade.
So at endidos casos bem variados, que
vo de t raumas a acomet iment os devido ao
t rabalho, acident es domst icos, correes de
defeit os congnit os e doenas degenerat ivas.
A recuperao cirrgica, na sua grande
maioria rpida, com uma mdia de int ernao
de 03 (t rs) dias, podendo o client e, muit as
vezes t er alt a hospit alar no mesmo dia da
cirurgia ou a int ernao prolongar-se por
necessidade de uso de ant ibit ico ou por
ordem social.
Perhl dos pacientes atendidos
O perhl desses clientes e, na sua maioria,
adulto do sexo masculino em idade produtiva,
na faixa etaria de 20 a 60 anos, conhgurando
em t orno de 57% dos at endiment os. As
crianas represent am um grande nmero
de int ervenes para correes de defeit os
congnit os. Est es dados foram consolidados
at ravs de planilha elaborada pela aut ora
para cont role dirio das at ividades realizadas,
no perodo de maio de 2006 a dezembro de
2007.
Principais cirurgias
- Artrodese - hxaao de uma
art iculao
Art roplast ia operao dest inada a
refazer as superfcies art iculares e rest abelecer
seu uso
Capsulect omia remoo da cpsula
Neurlise liberao de um nervo
comprimido por aderncias
- Neurorraha - sutura de um nervo
Neurot omia ret irada t ot al ou parcial
de um nervo
- Osteossintese - hxaao da fratura por
meio de placas ou parafusos
Ost eot omia seco cirrgica de um
osso
Sinovect omia remoo da membrana
sinovial
Tenlise liberao de um t endo
Tenoplast ia operao plst ica de um
t endo
- Tenorraha - sutura de um tendao
Tenot omia seco de um t endo
Cui dados de Enf er magem
Todos os cuidados ao client e so focados na
sua melhor recuperao e, conseqent ement e,
menor perodo de permanncia no hospit al.
O grau de dependncia desses client es varia
com a idade (idosos, crianas) e t ipo de
cirurgia.
O uso funcional das part es no afet adas da
mo deve ser encoraj ado. (BRUNNER, 2001)
Os cuidados de enfermagem so
est abelecidos a part ir das necessidades dos
client es. Assim foram est abelecidos alguns
cuidados que envolvem o pr e ps- operat rio,
bem como a alt a hospit alar.
Andra Bal bi no Costa
* Especi al i sta em Admi ni strao Hospi tal ar (UNI GRANRI O)
Especi al i sta em Enf ermagem em Al ta Compl exi dade (UGF)
Membro da ABENTO/ SOBENFeE
Centro Ateno Especializada em Cir ur gia de Mo
21 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
Pr -oper at r i o:
I nformar quant o procediment os e
cuidados pre, trans e ps-operatrio;
- Orientar higiene pessoal, intensihcando
a higiene das mos, observando unhas e
retirando esmalte;
No administ rar medicament os via
parenteral no membro a ser operado;
- Questionar ansiedade e duvidas;
Avaliar necessidade de apoio psicolgico
ou do Servio Social.
Ps-oper at r i o:
So cuidados que visam prevenir infeco
e doena t romboemblica (1)
- Nanter mao operada elevada;
Observar e regist rar condies da
extremidade do membro operado, visando
det ect ar algum sinal de complicao (cianose,
edema, alt erao de sensibilidade e dor
intensa);
Observar e regist rar a presena e
volume/ int ensidade de sangrament o pelo
curativo cirurgico;
Ensinar o client e a mobilizar a
extremidade operada, fazendo movimentos
de hexao e extensao das partes que nao
est iverem imobilizadas (ombro, cot ovelo e
dedos);
Orient ar o client e a mant er a mo
operada elevada com t ipia ou apoio, quando
estiver sentado ou andando;
Observar condies da imobilizao ou
gesso;
Observar e regist rar quant idade e
caract erst icas da secreo, no caso da
existncia de dreno;
- Auxiliar a alimentaao, higiene oral
e corporal e mobilizao, sempre que
necessrio.
Al t a hospi t al ar :
- Reforar a importancia de manter o
membro operado elevado, evit ando assim
edema e dor, e cuidado para no deit ar sobre
o membro operado;
- Explicar que repouso nao signihca
imobilidade t ot al, deve haver a moviment ao
das art iculaes livres, prevenindo
complicaes ps-operat rias como edema
e dor, pois permit em drenagem linft ica e
venosa;
Prot eger o membro operado durant e
higiene corporal;
- Em relaao a medicaao explicar: o
que, como e quando tomar;
- Nao mexer no curativo ate o retorno
agendado para a troca do mesmo;
Ensinar avaliar a perfuso perifrica,
edema, sangrament o, t emperat ura e dor
(quando nao cede com analgesico prescrito);
Qualquer possvel problema ent rar em
contato com o !NTO;
Ent regar document os.
O client e soment e t er alt a no mesmo
dia da cirurgia com acompanhant e, caso
cont rrio, a alt a ser na manh seguint e.
(1) Segundo CAMPOS (2003) a doena t romboemblica o desenvolviment o de um cogulo de sangue dent ro de um vaso sanguneo
venoso. Pode se desenvolver em situaoes em que ha diminuiao da velocidade do sangue, como por exemplo: pessoas acamadas,
cirurgias prolongadas, ent re out ros.
22 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
Andr a Balbino Costa*
*Especialista em Administr ao Hospitalar (UNI GRANRI O)
Especialista em Enfer magem em Alta Complexidade (UGF)
Membro da ABENTO/ SOBENFeE
O Ser vio de Enfer magem no Centro de Ateno
Especializada em Cir ur gia de P e Tor nozelo
I nt r oduo
O Cent ro de Especialidade de Cirurgia do
P e Tornozelo, formado para at ender aos
usurios com necessidades referent es a est a
especialidade que necessit em de t rat ament o
de alta complexidade, recebe clientes com
uma grande variedade de acomet iment os,
incluindo Neuromas, Deformidades Congnit as
ou Adquiridas (p em garra, j oanet es, art elho
em mart elo), Traumat ismos, Doena Vascular
Perifrica, Doenas Degenerat ivas, ent re
out ras.
O t empo de int ernao geralment e
pequeno, com uma media de 0+ (quatro) dias.
Esse perodo de int ernao pode prolongar-se
por necessidade de ant ibiot icot erapia venosa
e/ ou realizao de curat ivos.
Perhl dos pacientes atendidos
A maior part e dos client es at endidos para
t rat ament o devido acomet iment os nos ps e
tornozelos sao do sexo masculino, hcando em
torno de S+ dos atendimentos realizados,
provavelment e devido ao maior nmero de
casos envolvendo acident es aut omobilst icos
e acidentes de trabalho com pessoas do sexo
masculino. Vale ressalt ar que esses dados
foram obt idos at ravs de planilha elaborada
pela enfermeira do Cent ro do P, para cont role
dirio de suas at ividades, com incio em maio
de 2006 at dezembro de 2007.
A faixa etaria mais atendida esta
compreendida ent re 20 e 60 anos, no perodo
mais produtivo. Porem, e signihcante o
nmero de casos em idosos, devido a doenas
degenerat ivas, vasculares e endcrinas. As
crianas, na sua maioria, so at endidas para
t rat ament o das deformidades congnit as.
Principais cirurgias
Amput ao - Ret irada t ot al ou parcial
de uma extremidade do corpo, usada para
cont rolar a doena.
Artrodese - Fixaao de uma articulaao.
Art roplast ia Operao dest inada a refazer
as superfcies art iculares e rest abelecer seu
uso.
Osteossintese - Fixaao da fratura por
meio de placas ou parafusos.
Ost eot omia Seco cirrgica de um
osso.
Cui dados de Enf er magem
Pr -oper at r i o
Segundo BRUNNER (2001), a Enfermeira
deve avaliar a capacidade de deambulao,
o equilbrio do client e e o est ado
neurovascular do p ant es da cirurgia, bem
como a disponibilidade de assist ncia e
caracteristicas estruturais do lar, para auxiliar
no planej ament o de cuidados nos primeiros
dias de ps-operat rio.
Orient ar quant o a higiene corporal,
intensihcando a higiene dos pes e removendo
esmalte e adornos;
No administ rar medicament os via
parent eral no membro a ser operado.
Ps-oper at r i o
No ps-operat rio, o client e pode
experimentar uma dor intensa e latejante na
area operada, que ira exigir doses bastante
liberais de medicao analgsica (BRUNNER,
2001).
23 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
A durao da imobilidade e o incio da
deambulao dependem do procediment o
usado. Aps a cirurgia, os exercicios sao
iniciados para hexionar e estender os artelhos,
pois a hexao dos artelhos e essencial para a
marcha.
Aps a cirurgia a enfermeira deve at ent ar
para a presena de t umefao, avaliar a
funo neurovascular (circulao, moviment o,
sensibilidade), dor, est ado da ferida e
mobilidade (BRUNNER, 2001).
Mant er o pacient e com o membro
operado elevado no nvel do corao, para
reduzir edema e dor;
No aplicar medicament os via
parenteral no membro operado;
Orient ar o pacient e a iniciar moviment os
de extensao e hexao dos dedos do pe operado,
tao logo recupere o nivel de conscincia;
Observar e regist rar condies do
membro operado, visando det ect ar algum
sinal de complicao (edema, rubor, calor,
cianose, alteraao de sensibilidade ou dor);
Observar e regist rar presena de
sangrament o pelo curat ivo cirrgico e as
condioes do gesso (se for o caso);
At ent ar para o uso de mulet as, quando
necessario , para deambular;
Troca de curat ivo, a ser combinado
com a equipe medica;
At ent ar para a administ rao rigorosa
da Antibioticoterapia;
O client e dever iniciar t reino para
deambulaao com muletas;
- Auxiliar na higiene corporal e
mobilizaao, sempre que necessario;
- Esclarecer possiveis duvidas existentes,
ou solicitar a presena de prohssional
especihco.
Or i ent aes de al t a
- Reforar a importancia da manutenao
do membro operado elevado, evit ando edema
e dor;
Prot eger o membro operado durant e
higiene corporal;
- Explicar e esclarecer as duvidas sobre
a medicaao: o que, como e quando tomar;
No t rocar e/ ou abrir o curat ivo ou
imobilizaao ate retorno agendado;
- Explicar que repouso nao signihca
imobilidade t ot al, deve haver a moviment ao
as art iculaes livres, prevenindo complicaes,
como edema e dor, pois permit e drenagem
linfatica e venosa;
Ensinar a avaliar a perfuso perifrica,
edema, sangrament o, t emperat ura e dor
(quando nao cede com analgesico);
- Entregar documentaao;
Providenciar t ransport e adequado
j unt o com servio social.
Adr iana Alves da Silva Pereir a*
*Especialista em Sade Pblica (ENSP-FI OCRUZ).
Residncia em Enfer magem Mdico-Cir r gica (HUPE-UERJ)
Membro da ABENTO
Centro de Ateno Especializada em Oncologia Or topdica
sseo ainda e pouco conhecida dihcultando
a preveno e sua det eco, uma vez que os
fatores de risco identihcados sao poucos. O
diagnst ico precoce permit e o maior cont role
local da doena, favorecendo a realizao
de cirurgias com preservao do membro,
aument ando as chances de cura.
I nt r oduo
Os t umores sseos so pat ologias do
aparelho locomot or que se manifest am
frequent ement e por dor, aument o do volume
local e deformidade. A et iologia do t umor
2+ C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
Os tumores sseos podem ser classihcados
em:
- tumores benignos;
t umores malignos e
t umores met ast t icos.
Alguns t umores sseos benignos:
ost eocondroma, condroblast oma,
encondroma, t umor de clulas gigant es
ost eoblast oma e ost eoma ost eoide.
Os t umores musculoesquelt icos
malignos primrios incluem ost eossarcoma,
condrossarcoma, sarcoma de Ewing e
hbrossarcoma.
O esquelet o um local de met st ase
para vrios carcinomas (CA), sendo 80%
das metastases sseas secundarias a cancer
de mama, pulmo, prst at a, rim e t ubo
digest ivo.
Os t umores met ast t icos localizam-se
com mais freqncia na coluna vert ebral,
pelve, cost elas, calot a craniana e ossos
longos, respect ivament e. As acromet ast ases
(abaixo dos cotovelos e joelhos) sao menos
freqent es.
As leses pseudot umorais so leses
sseas no-neoplsicas que simulam t umores
sseos. So elas: cist o sseo simples (solit rio,
unicameral), cist o sseo aneurismt ico, cist o
sseo justacortical, hbroma nao ossihcante
(defeito hbroso metahsario), granuloma
eosinhlo, displasia hbrosa, miosite
ossihcante.
O client e oncolgico vivencia sit uaes
de medo e angst ia, pelo est igma da doena
ou medo da mort e. O processo do cuidar
envolve a habilidade de ouvir, compreender,
apoiar e proteger. Destacamos a importancia
do at endiment o humanizado por t oda equipe
mult idisciplinar visando o bem est ar fsico e
emocional do pacient e frent e as mudanas
impost as pela sit uao de doena.
Perhl dos pacientes atendido
No Brasil, dados acerca da ocorrncia dos
t umores de ossos e art iculaes, at ravs do
Regist ro Nacional de Pat ologia Tumoral, em
levant ament o no perodo de 1986 a 1990,
most raram uma freqncia de 0,6% do t ot al
de neoplasias malignas diagnost icadas no
pas (REVI STA BRASI LEI RA DE ORTOPEDI A,
1996).
Os t umores msculo-esquelt icos
correspondem a aproximadamente 3 das
neoplasias em geral. (PARDI NI , 2002).No
I NTO, grande part e dos pacient es at endidos
so adult os com leses crnicas malignas.
Principais procedimentos
Bipsia percutanea f aberta : Procediment o
de invest igao que, em geral leva ao
diagnst ico.
Resseco simples de t umor: cura cirrgica
produzida pela eliminao complet a das
celulas do tumor;
Curetagem com enxertia ou cimentaao:
remoo do t umor com reconst ruo at ravs
de auto-enxerto, homoenxerto, aloenxerto
ou cimento ortopedico cirurgico;
Transposio de fbula: t cnica de
reconst ruo at ravs de um segment o da
fibula;
!nhltraao com corticide e calcitonina:
t rat ament o para cist o sseo aneurismt ico,
Reconst ruo com endoprt ese no
convencional: implant es feit os sob medida
para subst it uio aps resseces de t umores
sseos;
Amputao e desarticulao
Cui dados de Enf er magem
O planej ament o das aes de enfermagem
aos pacient es submet idos a t rat ament o
cirrgico por t umores sseos deve prever
controle da dor, medidas especihcas para
promoo da independncia, preveno de
complicaes como t rombose venosa profunda
e frat ura pat olgica, educao ao pacient e e
familiar quant o s met as do plano assist encial
e promoo de um ambient e acolhedor.
Pr -oper at r i o
Encoraj ar o uso de equipament os e
25 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
adapt aes necessrias locomoo devido
ao risco de fratura patplgica;
No realizar venclise no membro a
ser operado;
Mant er e regist rar no pront urio t odos
os exames de imagem realizados;
- Ouvir e encorajar a expressao de
sent iment os.
Ps-oper at r i o
Monit orar sinais de frat ura pat olgica
(deformidade ssea visvel, crepit ao ao
moviment o, dor localizada cont nua sem alivio
e edema localizado);
Avaliar est ado neurovascular da
extremidade (enchimento capilar, temperatura,
sensibilidade e motricidade);
Est imular a mobilizao at iva no leit o,
dentro da limitaao;
- Nanter o membro operado elevado;
- Nanter curativo compressivo;
Est imular o uso de equipament os
e adapt aes necessrias locomoo de
acordo com a carga permitida;
- Estimular a realizaao de exercicios
ant i-t rombt icos de acordo com a orient ao
do servio de reabilitaao;
Ut ilizar medidas para a preveno de
ulceras por pressao;
Avaliar perfuso e dbit o de dreno
hemovac.
Alta teraputica
Reforar orient aes quant o ao uso de
rteses e a carga permitida;
- Troca diaria do curativo;
Uso corret o dos medicament os
prescritos (administraao e conservaao);
Observao quant o aos sinais e
sintomas de complicaoes;
Ret orno ambulat orial.
Br bar a Stohler Sabena de Almeida*
*Especialista em Clnica Mdica e Cir ur gia Ger al (UNI RI O)
Membro da ABENTO / SOBENFeE
Centro de Ateno Especializada em Microcir ur gia
Reconstr utiva
o t rat ament o de leses at ent o insolveis.
Perhl dos pacientes atendidos
O Cent ro de At eno especializada em
Microcirurgia Reconst rut iva at ende os usurios
vt imas de t rauma de et iologia diversa que
apresentem lesoes nervosas; perdas sseas,
musculares e cutaneas extensas; amputaoes
e out ras. A client ela eminent ement e
masculina com idade situada na faixa entre
20-50 anos. Cabe dest acar que cerca de
30% das int ernaes compost a por recm-
nascidos e crianas com idade ent re 0-12
anos. O t empo mdio de int ernao de
I nt r oduo
A Nicrocirurgia pode ser dehnida como
um conj unt o de procediment os cirrgicos
aplicados na manipulao de pequenas
estruturas que dependem do auxilio de
lent es de aument o- lupas ou microscpio
- (FERREI RA, 2005, p. 3). Foi int roduzida
no Brasil na dcada de 60 por cirurgies
do Hospit al das Clnicas de So Paulo que
realizavam reimplant es de membro superior.
Sua aplicao no se rest ringiu soment e s
amput aes, est endeu-se para reas como
a ort opedia, neurocirurgia, urologia, cirurgia
de mao, cirurgia plastica entre outras;
t ornando-se uma import ant e alt ernat iva para
26 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
t rs dias podendo est ender-se de acordo
com procediment o realizado e a presena de
fat ores complicadores (Relat rio de Gest o
I NTO 2007).
As principais cirurgias realizadas incluem:
enxerto de pele, reconstruao com retalho
miocutaneo, transplante com anastomose
vascular miocutaneo e microcirurgia do plexo
braquial (particularmente a neuroenxertia).
O enxerto cutaneo e o segmento
de pele ret irado de uma rea (doadora) e
t ransferido para out ra (recept ora) (I SHI DA,
200S, p.33). classihcado de acordo com sua
espessura, composio, origem e dimenso
sendo amplament e ut ilizado na rest aurao e
reparao de feridas. A principal complicao
a no-int egrao seguida da dist oro
t ecidual.
O t ransplant e com anast omose vascular
miocutaneo e tratamento de escolha na
reconst ruo de defeit os que requerem
t ransposio de grandes quant idades
de tecidos, com melhora signihcativa do
prognst ico e reduo da morbidade. Pode
ser classihcado quanto a forma, ao numero
de pedculos, composio, vascularizao,
localizao da rea doadora em relao
recept ora e aos mt odos de migrao.
O Plexo Braquial (hgura 01) e um
conj unt o de nervos que part em da medula
espinhal e se localiza no pescoo. Responsvel
pelos moviment os e pela sensibilidade
do membro superior. Pode ser lesionado
diret ament e (p.e.: arma de fogo) ou por
est irament o. Est e pode ocorrer na hora do
part o e conhecido como Paralisia Obst t rica
do Plexo Braquial (POPB). As lesoes tm
gravidade diferenciada de acordo com o
t rauma ocorrido, o que det ermina o t ipo de
t rat ament o cirrgico. No I NTO o t rat ament o
cirurgico mais freqente e a neuroenxertia -
ligao dos nervos lesionados a part ir de cabos
nervosos ret irados da perna. O prognst ico
t ambm est relacionado gravidade da
leso e o result ado lent o podendo levar at
quat ro anos. A dor const ant e com t endncia
a desaparecer num perodo de dois anos
devendo ser acompanhada e cont rolada com
o uso de analgsicos.
Cui dados de Enf er magem
O enfermeiro no CAEMER responsvel
pelo gerenciament o do cuidado prest ado
ao usurio desde sua int ernao at a alt a
t eraput ica. Suas at ividades/ aes so
realizadas de acordo com o huxo que o
usurio segue ao dar ent rada na inst it uio:
int ernao/ pr-operat rio, ps-operat rio e
alt a t eraput ica.
A assist ncia ao usurio submet ido
microcirurgia reconst rut iva requer cuidados
especiais no planej ament o e condut as pr e
ps-operat rias que t angem, principalment e,
manut eno das leses reparadas e a serem
reparadas.
Os cuidados pr-operat rios com leses que
serao enxertadas referem-se a manutenao
do leit o da ferida e da rea doadora. Os
cuidados ps-operat rios englobam ut ilizao
de curat ivos compressivo na regio recept ora
e acolchoado na doadora, avaliao da pega
do enxerto e manutenao das areas ate
cicat rizao e de seu cuidado post erior.
Para reparao com ret alho, os cuidados
pr-operat rios incluem a realizao de
anamnese (hist rico do usurio) para
det eco de fat ores que podem ocasionar
risco de anast omoses vasculares, como:
t abagismo, hipert enso art erial sist mica,
diabet es mellit us e doenas vasculares.
Sequencialmente procede-se ao exame
O Pl exo Braqui al
(http//:www.paral i si adopl exobraqui al .com.br)
27 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
operatrio das cirurgias do plexo braquial e
necessria para det erminao da gravidade
da leso e do prognst ico. A moviment ao
das articulaoes do membro de 3 a +
vezes ao dia, e o no uso de t ipia at a
cirurgia so recomendadas, pois mant m as
amplit udes art iculares e as art iculaes do
ombro lubrihcadas. O ps-operatrio consiste
na avaliao da ferida operat ria e t roca
de curat ivos, manut eno da imobilizao
( t ipia adult os e Velpeau para crianas)
por t rs semanas, observao do padro
respirat rio ( nos casos em que h uso do
nervo f rnico) .
fsico e avaliao do membro afet ado. As
leses devem ser t rat adas de acordo com as
caract erst icas apresent adas at realizao
de cobert ura. No ps-operat rio a avaliao
rigorosa da rea recept ora quant o colorao,
pulso, t emperat ura indispensvel para
cincia da viabilidade do ret alho, bem como a
manut eno do posicionament o adequado no
leit o e o repouso. O curat ivo deve ser asspt ico
para evit ar cont aminao e infeco. O uso
de analgsicos import ant e ao confort o do
usurio.
A realizao da anamnese no pr-
Ana Valr ia Cezar Schulz*
* Especialista em Progr ama da Sade da Famlia (UCB)
Membro da ABENTO
Centro de Tr atamento Or topdico da Cr iana e do
Adolescente
A enfermagem do cent ro infant il at ua
desde a int ernao at a alt a, acompanhando
t odos os procediment os durant e a int ernao
e orient ando o pacient e e seu familiar quant o
aos cuidados relat ivos cirurgia realizada.
Perhl dos pacientes atendidos
A quant idade de at endiment os realizados
durant e o ano, segundo o relat rio
anual de gest o de 2006, cont abilizou
8.695 at endiment os ambulat oriais, 2.279
at endiment os pelo servio de t riagem
(encaminhamentos externos), 1.013
int ernaes para cirurgia, num t ot al de 11.987
at endiment os.
No I NTO, observa-se que o maior
nmero de at endiment os em decorrncia
do t rat ament o das frat uras por acident e de
transito ou decorrentes da pratica de esportes,
sendo de maior incidncia as de mero, fmur,
t bia e anel plvico .
Ti pos de Ci r ur gi a
As cirurgias mais freqentes so:
I nt r oduo
O Cent ro de Trat ament o Ort opdico da
Criana e do Adolescent e, t ambm chamado
de Cent ro I nfant il, at ende crianas que
possuem pat ologias ort opdicas congnit as
ou decorrentes de trauma ortopedico. O perhl
da clientela abrange a faixa etaria de zero a
dezenove anos de idade, de ambos os sexos.
Os casos at endidos so bast ant e variados
e muit as dest as crianas apresent am out ras
pat ologias de base, como: paralisia cerebral,
mielomeningocele, out ras malformaes
congnit as e t uberculose ssea. O grau de
complexidade de procedimento proposto varia
muit o de acordo com o diagnst ico, o est ado
geral da criana e pat ologias associadas.
Os casos muito complexos sao raros e o
prognst ico das crianas at endidas pelo cent ro
infant il favorvel. As crianas apresent am
um tempo de recuperaao rapido e com baixos
ndices de complicaes ps-cirrgicas.
A avaliao inicial das crianas ocorre
no ambulat rio que at ende uma client ela
diversihcada, encaminhada de outros
municpios ou da localidade.
28 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
Trat ament o de frat ura de mero
Tratamento de fratura diahsaria de tibia
Trat ament o de frat ura de fmur dist al e
proximal
Tratamento da epihsilise: Doena ssea
rara que consist e no escorregament o da
epihse proximal do fmur, provocando necrose
ou infart o da cabea femoral. mais comum
no sexo masculino, na fase da puberdade.
(vELLOSO, 199S);
Trat ament o das frat uras decorrent es da
Ost eognese I mperfeit a: Doena gent ica
relat ivament e rara, que causa fragilidade
nos ossos gerando frat uras manipulao
relat ivament e simples do pacient e ou mesmo
espont aneament e, ocorrendo encurvament o
dos ossos devido ao encurt ament o. Devido
s frat uras, o t rat ament o cirrgico prope o
alinhament o sseo at ravs da colocao de
uma hast e int ramedular, diminuindo os riscos
de uma nova frat ura e a dor de uma frat ura.
Est e t ipo de procediment o conhecido como
Rodding (ASSOCI AO BRASI LEI RA DE
OSTEOGNESE, 1999);
Trat ament o do p t ort o congnit o:
patologia de causa ainda nao bem dehnida,
de ocorrncia mult ifat orial. Deformidade que
acomet e art iculaes do t ornozelo, subt alar
e mesotarsica. Apresenta hexao plantar
na art iculao do t ornozelo e se mant m
aduzido e invert ido nas art iculaes subt alar
e mesot rsica. O p se mant m invert ido para
dent ro em relao aos membros inferiores
(POEYS, 2002);
Ost eossnt ese: reduo anat mica do osso
e hxaao da fratura com o uso de material de
sintese rigido, como placa e parafuso, ho de
Kirshner e haste intramedular (ZUPPY, 199S).
Cui dados de Enf er magem
A criana como t odo pacient e cirrgico,
apresent a sent iment o de medo e ansiedade
relacionado cirurgia e a rupt ura com seu
ambient e social e familiar, mobilizando
respost as inesperadas, imprevist as e at
mesmo com diminuio da aut o-est ima. Nest e
moment o, o t rabalho inicial da enfermagem
o de apresent ar a criana o seu novo ambient e.
No I NTO, dispe-se de uma est rut ura dist int a
para o sexo e a idade, composta por leitos
apropriados e de ambient e agradvel, com
t eleviso, inst rument os ldicos e at uma rea
especihca para recreaao, a brinquedoteca.
Em muit os moment os, incluem-se at ividades
com recreadores, cont adores de hist rias,
fest as e out ros event os comemorat ivos.
As aes se dist ribuem pelos t rs moment os
operat rios (pr, t rans e ps operat rio) e
a alt a hospit alar. Algumas aes aplicam-se
a t odos os t ipos de diagnst icos, out ras so
especihcas. Estas estabelecem um canal de
comunicao ent re os demais membros da
equipe mult idisciplinar.
Pr -oper at r i o
Consult a de enfermagem ao pacient e
internado, com realizaao do exame fisico e
avaliao do risco para desenvolviment o de
lesoes de pele;
Reconhecer os fat ores que podem
interferir ou impedir o momento cirurgico;
- verihcaao do prontuario (checar
exames, liberaao do risco cirurgico, exames
de imagem e diagnst ico e demais document os
do prontuario);
Regist ro de t odas as at ividades no
prontuario;
Orient ao ao pacient e e seu familiar
sobre o procediment o propost o e preparo
para o procedimento;
I nformar ao pacient e as possveis
alt eraes e problemas que podem ocorrer
no ps operat rio.
Tr ans oper at r i o
Acompanhar o procediment o para
compreender a maneira corret a de int ervir no
ps operat rio.
Ps oper at r i o
Realizar a visit a ps-operat ria com
avaliaao clinica;
29 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
- verihcar a presena e as condioes de
dispositivos externos (drenos e cateteres de
sucao) e curativos;
- verihcar a prescriao medica e realizar
a prescriao de cuidados de enfermagem;
Posicionar o pacient e adequadament e
no leit o, promover confort o e segurana,
e mant er o membro operado elevado ou
corretamente posicionado;
Checar os sinais vit ais e assegurar a
estabilidade hemodinamica do paciente;
Regist rar t odas as at ividades no
pront urio.
Al t a Hospi t al ar :
- Fornecer as orientaoes especihcas e de
cuidados domiciliares para a alta hospitalar;
- verihcar o prontuario e a documentaao
especihca de alta hospitalar;
Cont act ar a visit a domiciliar, se
necessario;
- !nformar a data de retorno;
Regist rar t odas as informaes no
pront urio.
r ika de Almeida Leite da Silva*
*Especialista em Enfer magem Or topdica (UNI RI O) / Membro da ABENTO
Jamila Fer reir a Mir anda dos Santos**
* *Especialista em Sade Pblica (UNI RI O) /Membro da ABENTO
Juliane de Macedo Antunes***
***Especialista em Promoo da Sade (UFF) / Membro da ABENTO
Ver a Lcia Alonso****
****Auxiliar de Enfer magem da Clnica da Dor
Enfer magem na Clnica da Dor
o maximo de alivio da dor e seus beneficios.
Perhl dos pacientes atendidos
So poucos os dados disponveis sobre
o perhl epidemiolgico da dor no Brasil.
Cont udo, alguns est udos apont am para as
afeces do aparelho locomot or como a causa
mais frequent e de dor ent re os brasileiros,
destacando-se as lombagias, a hbromialgia e
a sndorme dolorosa miofascial (SOCI EDADE
BRASI LEI RA PARA O ESTUDO DA DOR,
2007).
No I NTO, os pacient es so at endidos no
ambulat rio, principalment e os pacient es com
dor crnica, e na unidade de int ernao, onde
a prevalncia de dor aguda maior, por se
t rat ar de uma inst it uio cirrgica, t endo a
dor como quint o sinal vit al.
I nt r oduo
A dor ou sensao dolorosa varivel
ent re os indivduos, e est associada a
diversas condies como: fsicas, cult urais e
sociais. O limiar de dor varia de um indivduo
para o outro, pode ser dehnido como o ponto
ou moment o em que um dado est mulo
reconhecido como doloroso. O cont role da dor
t raz benefcios para o pacient e, para a equipe
e para a inst it uio.
O I nst it ut o Nacional de Traumat ologia e
Ort opedia (I NTO), desde 1999, at ravs da
criao da rea de Trat ament o e Cont role
da Dor (ARDOR), implement a a ao de seu
regist ro como 5 Sinal Vit al com o obj et ivo
de int egrar-se com os Cent ros de At eno
Especializada e demais equipes favorecendo,
uma assist ncia de qualidade proporcionando
30 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
Ti pos de dor
A dor aguda aquela caract erizada por
curt a durao, em geral menos de 6 meses,
um sinal de dano t ecidual e, em geral cessa
quando o est mulo ret irado, como no caso
dos procediment os cirrgicos. No I NTO, a
maior prevalncia, devido aos t rat ament os
cirrgicos, de dor aguda.
A dor aguda inicia-se com uma leso, e
substancias algognicas sao sintetizadas no
local ou ali liberadas, est imulando t erminaes
nervosas (nocicept ores). O impulso levado
atraves dessas hbras para o corno posterior
da medula ou para os ncleos sensit ivos,
no caso de nervos cranianos. Nesses locais,
pode ocorrer modulaao (amplihcaao ou
supresso) do sinal, ant es de ser int erpret ado.
Ao longo dessas vias de conduo da dor
geram-se rehexos que envolvem alteraoes
neuroendcrinas. (XAVI ER, 2005).
No caso da dor em t raumat ologia e
ort opedia, observamos que alm da dor
aguada causada por procediment os cirrgicos
h t ambm out ros t ipos de dor freqent es
como a dor neuropt ica e a cefalia aps
raqui-anest esia.
Alm do t rat ament o farmacolgico, algumas
out ras t eraput icas t ambm so ut ilizadas no
cont role da dor na int uio como bloqueio
analgsico via nervo perifrico, acunpunt ura,
bomba de analgesia cont rolada pelo pacient e
e int roduo de elet rodo medular.
Cui dados de enf er magem
A avaliao da dor import ant e para a
humanizao da assist ncia ao pacient e, alm
de promover o planej ament o das int ervenes
a serem realizadas. Est a deve ser cont nua e
sistematizada, valorizando a queixa verbal do
pacient e, independent e da int ensidade por
ele relat ada.
A avaliao da dor aguda menos
complexa que a da dor crnica, como descrito
por Calil:
No I NTO, ut ilizado como inst rument o
de avaliao dos pacient es a Escala Visual
Analgica EVA (Figura 1), que foi adapt ada
e referendada pela Sociedade Brasileira
do Est udo da Dor (SBED). Est a, enumera a
intensidade da dor de 0 a +, podendo ser
ut ilizada a part ir da idade pr-escolar.
Alguns fat ores so import ant es para
qualihcar a assistncia de enfermagem,
como:
Avaliar a mobilidade fsica solicit ando
ao pacient e a localizao da dor, assim como,
est imular a mobilizao respeit ando os limit es
do paciente;
Proporcionar um ambient e agradvel
para o sono (silncio, t emperat ura ambient e,
penumbra, higiene corporal e ambiental);
I ncent ivar at ividades ldicas e o
acompanhamento pela familia;
Observar se a medicao prescrit a foi
administrada;
Posicionar corret ament e o pacient e no
leito;
Avaliao diria da int ensidade da
dor;
Est imular e encoraj ar ao aut o cuidado
facilitando no alivio a dor;
O quadro doloroso recente e bem
localizado e a infuncia de fatores emocionais
e culturais , na maioria das vezes, de
menor magnitude. Devem ser investigados a
localizao, intensidade, incio da dor, durao
e periodicidade dos episdios dolorosos,
qualidade sensitiva, padro evolutivo, fatores
agravantes ou atenuantes da dor e outros
sintomas associados. (CALIL, 2005).
Fi gura 1 - Escal a Vi sual Anal gi ca (EVA)
31 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
Ver se o prot ocolo medicament oso da
dor esta sendo usado corretamente;
Solicit ar avaliao mdica e, se possvel,
da equipe multidisciplinar;
Reavaliar o pacient e aps 30 minut os
(em seguida de qualquer cuidado prestado);
Solicit ar avaliao mdica da Clnica da
Dor caso a dor permanea.
A Clnica da Dor encont ra-se cada vez
mais slida com prohssionais envolvidos
e valorizando a relao equipe-pacient e e
desmistihcando a incidncia de dor. Pelo
cont rrio, possvel submet er-se a cirurgias
ortopedicas grandes sem quaisquer queixas
de dor.
3. Diagnsticos de Enfer magem nos Centros de Ateno
Especializada
Os diagnst icos de enfermagem so part e de um j ulgament o clnico do enfermeiro no qual a
North American Nursing Diagnosis Association - NANDA formalizou um sistema de classihcaao para
descriao e desenvolvimento de uma fundamentaao cientihca que proporcione a base para seleao
das int ervenes de enfermagem (Carpenit o, 2002, p.30).
A NANDA int ernacional desenvolve uma t erminologia para descrever os import ant es j ulgament os
que os enfermeiros fazem quando provm cuidados para indivduos, famlias, grupos e comunidades.
Tais j ulgament os, ou diagnst icos, so a base para a seleo de result ados e int ervenes de
enfermagem. Essa relaao vai ao encontro da necessidade de uma estrutura comum - ou taxonomia.
A criaao da taxonomia de NANDA permite a padronizaao da linguagem entre os enfermeiros
(NANDA 2005-2006).
Est e j ulgament o embasado na invest igao de enfermagem (hist rico de enfermagem,
anamnese e exame fisico) onde a sintomatologia direciona o cuidado. Assim, estao descritos a
seguir os diagnst icos de enfermagem da NANDA, mais aplicados pelos enfermeiros dos CAE.
DI AGNSTI COS DE ENFERMAGEM FATORES RELACI ONADOS/ RI SCOS
ADAPTAO prejudicada
Est ado emocional int enso, at it udes negat ivas com relao
ao comport ament o de sade, falt a de mot ivao para
mudar comport ament os.
ANSI EDADE
Estresse; ameaa de mudana no status econmico, na
funo do papel de provedor, ameaa de mudana no
est ado de sade.
Risco de CONSTIPAO
Funcionais (mudanas recent es de ambient e, higiene
intima inadequada, atividade fisica insuhciente);
Psicolgicos (t enso emocional, confuso ment al,
depressao);
Fisiolgicos (ingestao insuhciente de hbras e liquidos,
dent io ou higiene oral inadequadas, mot ilidade
diminuida do trato gastrointestinal);
Farmacolgicos
Necanicos (desequilibrio eletrolitico, hemorridas,
prolapso de ret o e obesidade).
Intolerncia ATIVIDADE
Repouso prolongado no leit o ou imobilidade.
Sndrome do dhcit do AUTOCUIDADO para
al i ment ao, banho/ hi gi ene, hi gi ene nt i ma,
vest i r -se/ ar r umar -se
Ansiedade grave, prej uzo msculo-esquelt ico, dor,
prej uzo cognit ivo, est ado de mobilidade prej udicado,
capacidade de t ransferncia prej udicado.
32 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
Risco de baixa AUTO-ESTIMA
situacional
Dist rbio na imagem corporal, prej uzo funcional,
mudana de papel social, poder/ cont role sobre o ambient e
diminudo, doena fsica.
COMUNICAO VERBAL prejudicada
Barreira fsica, efeit os colat erais de medicament os, barreira
ambiental, ausncia de pessoas signihcativas, percepoes
alt eradas, est resse, enfraqueciment o do sist ema msculo-
esquelt ico.
CONFUSO aguda
Mais de 60 anos de idade, delrio, demncia e abuso de
substancias.
Risco de ASPIRAO
Aliment ao por sondas, sit uaes que impedem a
elevao da part e superior do corpo, nvel de conscincia
reduzido, presena de t raqueost omia, administ rao de
medicaao, hxaao cirurgica dos maxilares, deglutiao
prej udicada, cirurgia ou t rauma facial, oral ou do pescoo,
rehexos de tosse ou de vmito diminuidos, mobilidade
gast roint est inal diminuda
DEAMBULAO prejudicada
Dor, medo, doena fsica, imobilidade e t ipo de cirurgia
realizada.
DEGLUTIO prejudicada
Anomalias da via area superior, est ados com hipot onia
signihcativa, disturbios respiratrios, histria de
alimentaao por sondas, obstruao mecanica, traumas
internos ou externos, lesao traumatica da cabea,
anormalidades da cavidade oral ou da orofaringe.
DENTIO prejudicada
Higiene oral inehcaz, barreiras ao autocuidado, uso de
medicament o, doena fsica.
DESOBSTRUO inehcaz DE VIAS AREAS
Via area obst ruda (espasmo de via area, secrees
retidas, muco excessivo, presena de via aerea artihcial);
Fisiolgicos (disfuno neuro-muscular, infeco).
Risco de sndrome do DESUSO
Dor intensa, imobilizaao mecanica, nivel de conscincia
alt erado, paralisia.
DOR aguda
Agent es lesivos (biolgicos, qumicos, fsicos e
psicolgicos).
DOR crnica
I ncapacidade fsica/ psicossocial crnica.
ELIMINAO urinria prejudicada
I nfeco no t rat o urinrio, dano sensrio-mot or
Di st r bi o na I MAGEM CORPORAL
Psicossociais, biofsicos, cognit ivos/ precept ivos, doena,
t rauma ou leso, cirurgia e t rat ament o.
I NCONTI NNCI A i nt est i nal / ur i nr i a
Fat ores ambient ais, est resse, cognio prej udicada,
dehcit no autocuidado para higiene intima, capacidade
reservat ria prej udicada, medicaes, imobilidade,
disfuno neurolgica.
Risco de INFECO
Procediment os invasivos, t rauma, desnut rio, defesas
primariasf secundarias inadequadas, exposiao ambiental
a pat genos aument ada.
INTEGRIDADE DA PELEJTISSULAR prejudicada
Externos (umidade, fatores mecanicos, imobilizaao fisica,
extremos de idade e medicaoes);
I nt ernos (Alt erao met ablica, proeminncias sseas,
sensibilidade alt erada, est ado nut ricionallquido alt erados,
circulao alt erada).
Risco de LESO perioperatria por
posicionamento
Desorient ao, edema, imobilizao, fraqueza muscular,
dist rbios sensoriais/ precept ivos e obesidade.
MEDO
Separao do sist ema de apoio em sit uao pot encialment e
est ressant e (hospit alizao) e falt a de familiaridade com
experincia ambiental.
33 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
MOBILIDADE fsica prejudicada
Medicament os, imobilidade, dor, prej uzo sensrio-
percept ivo, obesidade, prej uzos msculo-esquelt icos,
intolerancia a atividade, prejuizo cognitivo, diminuiao da
fora, cont role e/ ou massa muscular, perda da int egridade
de est rut uras sseas, enrij eciment o das art iculaes ou
cont rat uras.
MUCOSA ORAL prejudicada
Efeit os colat erais de medicament os, ausncia ou diminuio
da salivao, t rauma, desnut rio e desidrat ao,
mecanicos, perda de estrutura de suporte.
Risco de disfuno NEUROVASCULAR perifrica
Trauma, cirurgia ortopedica, fratura, compressao mecanica
e imobilizao.
NUTRI O desequi l i br ada: menos do que as
necessidades corporais
I ncapacidade para ingerir ou digerir comida ou absorver
nut rient es causada por fat ores biolgicos, psicolgicos ou
econmicos.
PERFUSO TISSULAR perifrica inehcaz
Hipovolemia, interrupao do huxo arterialfvenoso,
concent rao diminuda de hemoglobina no sangue.
Risco de QUEDAS
Em adult os (hist ria de quedas. Uso de cadeira de rodas,
maior de 60 anos, mulher idosa, morar sozinho, prt ese
de membro inferior, uso de aparelhos de auxilio);
Em crianas (menor de 2 anos, ausncia de prot eo em
janela, camaf leito, falta de supervisao da criana);
Fisiolgicos (doena aguda, condies ps-operat rias,
dihculdade auditiva, hipotensao ortostatica, anemia,
fora diminuida nas extremidades superiores e inferiores,
mobilidade fisica e equilibrio prejudicados, dehcits
proprioceptivos);
Cognitivos (estado mental diminuido);
Medicaes (ansiolt icos, narct icos, t ranqilizant es).
Ambient ais (condies climt icas, ambient e com mveis e
objetos em excesso, quarto nao familiar).
Atividades de RECREAO dehcientes
Ausncia de at ividades de recreao como em int ernaes
de longa durao e t rat ament os prolongados freqent es.
RECUPERAO CI RRGI CA r et ar dada
Alta complexidade das cirurgias ortopedicas e
complicaes.
Padr o de SONO per t ur bado
Ambient ais (barulho, iluminao, falt a de privacidade,
int errupes para medicaes, cont roles ou colet a
de material para exames laboratoriais) Psicolgicos
(ansiedade, medo, depressao);
Fisiolgicos (dor, posio, urgncia e incont inncia, febre,
nusea e dispnia).
Risco de TRAUMA
Externos (camas altas, uso de escadas ou cadeiras sem
hrmeza, janelas sem proteao de segurana, deslizar em
lenis de t ecido spero ou bat er cont ra as grades das
camas, pisos escorregadios);
I nt ernos (hist ria de t rauma prvio, reduo da sensao
tatil, dihculdade de equilibrio cognitivas ou emocionais,
coordenao reduzida de grandes ou pequenos msculos,
fraqueza).
4. Consider aes Finais
A organizao dos Cent ros de At eno
Especializada (CAE) no I NTO t ornou-se
fundament al no gerenciament o do cuidado,
uma vez que const it ui um at endiment o
calcado em princpios como a int egralidade
da assist ncia prest ada aos usurios dos
servios, humanizando-a e promovendo a
sade do usurio, em conformidade com a
Polt ica Nacional de Humanizao (PNH).
O Servio de Enfermagem nos CAE facilit a
a interface entre os prohssionais de saude e
3+ C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
favorece o aprimoramento tecnico-cientihco
at ravs da sist emat izao da assist ncia de
enfermagem, cuj o planej ament o das aes,
envolvendo o cuidador, favorece o vnculo
com os prohssionais e a conhabilidade na
inst it uio.
A importancia e a responsabilidade
do enfermeiro quant o a observao e
at endiment o das necessidades do pacient e
cirrgico devem ser dimensionadas, uma vez
que possui funao especihca na ehcacia da
t eraput ica de seus pacient es, e, dependendo
de sua at it ude, pode facilit ar ou impedir um
programa de recuperao, vist o que est e
pacient e invadido por medo do desconhecido
num ambiente estranho (ZEN 8 BRUTSHER,
1986).
Todo processo assist encial se faz present e
com empenho e resolut ividade no t rabalho
diario, desenvolvido pelos prohssionais dos
CAE, conseguindo desse modo at ender com
qualidade um grande nmero de client es que
chegam para realizar t rat ament o cirrgico.
Orientaoes e cuidados especihcos sao
prest ados como propost a de promover a
recuperao no t empo previst o de cada
cirurgia.
Est e caderno formaliza a propost a de
sist emat izao da assist ncia de enfermagem
aos usurios submet idos a cirurgias
ortopedicas de alta complexidade, descreve
aos diversos prohssionais de saude a
rotina assistencial ao paciente e amplihca a
valorizao do enfermeiro especializado em
sua at uao. Est a sist emat izao const it ui-se
em import ant e inst rument o de cont ribuio
para a busca das melhores respost as em
cuidados de enfermagem e realando os
objetivos da excelncia do servio que esta
inst it uio prest adora de cuidados de sade
oferece aos seus usurios.
5. Referncias Bibliogrcas
ARAJO, M. J. B. Tcnicas Fundamentais
de Enf er magem. Rio de Janeiro: M.J. Bezerra
de Araj o Edit ora LTDA, 9 ed.: 1996.
Associao Brasileira de Ost eognese
I mperfect a. Disponvel em ht t p: / / www.aboi.
org.br. Acessado em 08/ 02/ 08.
BARBOSA, M.L.J, NASCI MENTO, e.FA.
Incidncia de internaes de idosos por
mot i vo de quedas em um hospi t al ger al
de Taubat . Disponvel em ht t p: / / www.
unit au.br/ prppg/ publica/ biocienc/ . Acessado
em 05 de j aneiro de 2008.
B!JOS, P.; ZUN!OTT!, A. v.; ROCHA,
J. R.; FERRE!RA, N. C. Microcirurgia
Reconstrutiva. So Paulo: At heneu 1 ed.
2005.
BRASI L, Minist rio da Sade. I nst it ut o
Nacional do Cancer. Abordagem Inicial dos
Tumor es sseos. Braslia, 2000.
BRUNNER 8 SUDDARTH. Tr at ado de
Enfermagem Mdico-Cirgica.10 ed.
Rio de janeiro: Editora Guanabara Koogan ,
2005.
CAFER, R.C.E. E colbs. Diagnsticos de
enf er magem e pr opost a de i nt er venes
para pacientes com leso medular.
Acta,18(+):3+7-S3foutfdez 200S.Disponivel
em www.scielo.br. Acesso em 1+ dez.2007
CAL!L, A. N.; P!NENTA, C. A.N. I nt ensi dade
da dor e adequao de anal gesi a. Revist a
Lat ino-Americana de Enfermagem, vol.13, n.
S, !SSN 010+-1169,200S.
CAMPI OTTO, A.R. I n: SOUZA,L.C.M(org).
Cirurgia Ortogntica e Ortodontia, So
Paulo: Sant os,1998.
CARPENI TO, L. J. Diagnsticos de
35 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
Lat ino-americana de Enfermagem Out . 1998,
vol.6, n.+, p.67-73.
NAXEY, L. 8 NAGNUSSON, J. Reabi l i t ao
ps-cirrgica para o paciente ortopdico.
Guanabara koogan edit ora, 2003.
MEDEI ROS,A.M.C. Mot ricidade orofacial:
I nt er -r el ao ent r e f onoaudi ol ogi a e
odont ol ogi a.So Paulo: Lovise,2006.
NANDA. Diagnsticos de Enfermagem da
NANDA: Dehnies e classihcao 2005-
2006. Port o Alegre: Art med, 2006.
PARDI NI , Jr. e SOUZA, A.G. Tumor es do
Sistema Msculoesqueltico. Rio de
Janeiro: Nedsi, v.3f+, 2002.
PASCHOAL Fernando Mendes. Tr at ament o
Cirrgico das Fraturas. Par: 2002.
Disponvel em ht t p: / / www.cult ura.ufpa.br/
ort raum/ t rat ament o_cirurgico_das_f rat uras.
ht m. Acesso em 06/ 01/ 2008.
PERE!RA, L. v.; SOUSA, F. A. E. F. Mensur ao
e aval i ao da dor ps-oper at r i a: uma
br eve r evi so. Revist a Lat ino-Americana
de enfermagem, vol.6, n.3,!SSN010+-
1169,1998.
POEYS, V. et al. P TORTO CONGNITO.
Disponvel em ht t p: / / www.wgat e.com.br.
Acessado em 08/ 02/ 08.
SANTOS, I raci dos...[ et al.] Enf er magem
Assistencial no Ambiente Hospitalar:
r eal i dade, quest es, sol ues. So Paulo:
Edit ora At heneu,2005.(Srie At ualizada em
Enfermagem; v.2) S+2p.
SNELTZER 8 BARE. Enfermagem Mdico
Cirgica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan
Vol.3,9 ed, 2002.
Sociedade Brasileira Para Est udo da Dor. Dor
i nf or maes ger ai s. Disponvel em www.
dor.org.br. Acessado em 12 de dezembro de
Enfermagem: aplicao prtica clnica.
8 ed. Port o Alegre: Edit ora Art med, 2003.
CHAvES LD; LEO, E.R. Dor - 5 sinal vital:
reexes e intervenes de enfermagem.
Curitiba: Naio 1S1-68; 200+.
CROCKARELL, JR. Artroscopia de Joelho
i n: Canal i . TS. Cirurgia Ort opdica. Tambor:
Manole,2006.
DONAHOO, Clara A.; D!NON, Joseph
H. Enf er magem em Or t opedi a e
Tr aumat ol ogi a. So Paulo: Edit ora da
Universidade de So Paulo, 2001.
GARCI A, F. A. Tumor es sseos. So Paulo:
Universidade de So Paulo, 1990.
HEBERT, S. et al. Or t opedi a e t r aumat ol ogi a
- princpios e prticas. Port o Alegre:
Art med, 2 ed. 2003.
HORN, C. C.; OL!vE!RA S G: RBCEH - Revi st a
Brasileira de Cincias do Envelhecimento
Humano, Passo Fundo, S7-6+ - jul.fdez.
2005.
I NSTI TUTO NACI ONAL DE TRAUMATOLOGI A
E ORTOPEDI A. Poltica de Controle da Dor
do I NTO Disponvel em www.int oline.gov.
br/ . Acessado em 12 de dezembro de 2007.
JACKSON, W. D. Ci r ur gi a do Joel ho. Rio de
Janeiro: Revint er, 2005.
K!SNER, C. 8 COLBY, L.A. Exerccios
teraputicos - fundamentos e tcnicas.
3 ed. Manole edit ora, 1998.
NALEK, N. N; FANELL! G; JOHNSON
D; JOHNSON D. Ci r ur gi a de Joel ho
Complicaes, Riscos e Solues. Rio de
Janeiro: Revint er, 2003.
MANCUSSI , A. C. Assistncia ao binmio
pacienteJfamlia na situao de leso
traumtica da medula espinhal. Revist a
36 C. de Enf ermagem em Ortopedi a, Ri o de Janei ro, v. 2, p 1-36, mai o 2009
XAv!ER, T. T.; TORRES, G. v.; ROCHA, v. N. Dor
ps-operatria: caractersticas quanti-
qualitativa relacionadas a toracotomia
pst er o-l at er al e est er not omi a. Act a
Cirurgica Brasileira, vol.20, n., I SSN 0102-
8650,2005.
ZEN, O. P; BRUTSHER, S. N. Humanizao:
enfermeira de centro cirrgico e o
paciente de cirurgia. So Paulo, Rev.
Enfoque; v. 1+, n. 01, p. +-6, 1986.
ZUPPY, G.N. et al. ESTUDOS DAS
OSTEOSS NTESES SUPRA E
I NTERCONDI LI ANAS NO FMUR.
Disponvel em ht t p: / / www.inscrioonline.
com.br. Acessado em 08/ 02/ 08.
2007.
Sociedade Brasileira de Traumat ologia e
Ort opedia. Revista Brasileira de Ortopedia.
Rio de Janeiro, dez. 1996. Disponvel em:
ht t p/ / : www. rbo.org. br. Acessado em
08/ 02/ 2008.
SOUSA F.A.E.F. Dor : o qui nt o si nal vi t al .
Rev. Latino-Am Enfermagem; 10(3): +06-7;
2002.
SPARKS, S. N. Diagnstico de Enfermagem
- Rio de Janeiro: Reichmann 8 Affonso,
2000.
TASHI RO, Marisa Toshiro Ono. Assistncia
de Enf er magem em Or t opedi a e
Tr aumat ol ogi a.So Paulo: At heneu.2001.
TAYLOR, Cynthia N.; DYER, Janice G.; SPARKS,
Sheila M. Diagnstico de Enfermagem
da NANDA: Dehnies e Classihcaes
2005-2006. Port o Alegre: Art emed, 2006.
312p.
VELLOSO, A.C. EPI FI SI LI SE. Disponvel
em ht t p: / / www.wgat e.com.br. Acessado em
08/ 02/ 08.
vENTURA NF, Faro ACN, Onoe EKN, Utimura
M. Enfermagem Ortopdica, So Paulo:
cone, 1996.
VERONEZ, F.S. Modihcaes psicossociais
observadas ps cirurgia ortogntica
em pacientes com e sem hssuras
l abi opal at i nas. Arq.C.Saude;12(3):133-
137, j ul-set 2005. Disponvel em www.
cienciasdasaude.famerp.br .Acesso
em: 15dez.2007.
v!ANNA, Sergio 8 v!ANNA , vernica -
Cirurgia do p e tornozelo. Rio de Janeiro;
Revint er , 2005.
WI SS, D. A. Fr at ur as. Rio de Janeiro:
Revint er, 2003.
Você também pode gostar
- Ebook Primeiros SocorrosDocumento24 páginasEbook Primeiros SocorrosValéria GurgelAinda não há avaliações
- POP - DE.001 - Descanso Do Plantão Da Equipe de EnfermagemDocumento4 páginasPOP - DE.001 - Descanso Do Plantão Da Equipe de EnfermagemMariana MaiaAinda não há avaliações
- Prova FUNDAMENTOS DO CONTROLE DO RUÍDO INDUSTRIALDocumento11 páginasProva FUNDAMENTOS DO CONTROLE DO RUÍDO INDUSTRIALHenrique Araújo0% (1)
- Histórico Escolar Anhanguera Enfermagem Tamires BeatrisDocumento2 páginasHistórico Escolar Anhanguera Enfermagem Tamires BeatrisJoao DoriaAinda não há avaliações
- Projeto de Enfermagem Medico-Cirurgico 2Documento38 páginasProjeto de Enfermagem Medico-Cirurgico 2Joana Raquel MirandaAinda não há avaliações
- Nomes de CirurgiasDocumento4 páginasNomes de CirurgiasLuciana Pereira Dos Santos100% (1)
- Ventilação Mecanica-PneumoatualDocumento19 páginasVentilação Mecanica-PneumoatualbrunaharaAinda não há avaliações
- Apostila GessoDocumento40 páginasApostila GessoMallú SallesAinda não há avaliações
- Balanço HídricoDocumento1 páginaBalanço Hídricocaio100% (1)
- ARAUJO Cirurgia Ortognática - Solução Ou ComplicaçãoDocumento18 páginasARAUJO Cirurgia Ortognática - Solução Ou ComplicaçãoEryson Thiago PradoAinda não há avaliações
- Caderno Enfermagem Ortopedia v2Documento37 páginasCaderno Enfermagem Ortopedia v2Cristine SilvaAinda não há avaliações
- SAE WebDocumento118 páginasSAE WebalexandremreisAinda não há avaliações
- Normas de Boa Pratica em TraumaDocumento227 páginasNormas de Boa Pratica em TraumaGraçaAraújo100% (1)
- Instrumentação Cirúrgica-Sondas, Drenos e CateteresDocumento57 páginasInstrumentação Cirúrgica-Sondas, Drenos e CateteresHélio Mota100% (1)
- Bloco OperatorioDocumento162 páginasBloco OperatorioAntónio SantiagoAinda não há avaliações
- Estudo Radiologico Torax PDFDocumento58 páginasEstudo Radiologico Torax PDFsamarapachecoAinda não há avaliações
- Unidade II - Aparelho LocomotorDocumento24 páginasUnidade II - Aparelho Locomotoramss_admAinda não há avaliações
- Manual de Semiologia MeÌ DicaDocumento200 páginasManual de Semiologia MeÌ DicaShelsia FernandaAinda não há avaliações
- Acessos VascularesDocumento34 páginasAcessos VascularesvlopesriosAinda não há avaliações
- Aula1. Introdução À Anatomia PDFDocumento12 páginasAula1. Introdução À Anatomia PDFWellington J OliveiraAinda não há avaliações
- Apostila Do Curso Saude Da MulherDocumento36 páginasApostila Do Curso Saude Da MulherNAZARETH ITABORAIAinda não há avaliações
- 153 Instrumentador Cirurgico PDFDocumento12 páginas153 Instrumentador Cirurgico PDFDenise CortezAinda não há avaliações
- Resumo Dos PdfsDocumento146 páginasResumo Dos PdfsClaudio Maia de paulaAinda não há avaliações
- Tec. Basicas de Aspiração de SecreçãoDocumento18 páginasTec. Basicas de Aspiração de Secreçãopriscila_luiza_14Ainda não há avaliações
- Aula 12 Período Pos OperatórioDocumento24 páginasAula 12 Período Pos OperatórioLeoTron25Ainda não há avaliações
- O Cuidado Perioperatório Ao Paciente Ortopédico Sob o Olhar Da Equipe de Enfermagem - REVISADODocumento9 páginasO Cuidado Perioperatório Ao Paciente Ortopédico Sob o Olhar Da Equipe de Enfermagem - REVISADOHoberty AlvesAinda não há avaliações
- Hipertensão Arterial TrabalhoDocumento6 páginasHipertensão Arterial TrabalhoFábio Leonardo PimentelAinda não há avaliações
- Plano de Actividades Enfermagem 2023Documento4 páginasPlano de Actividades Enfermagem 2023Velasco António MaliequeAinda não há avaliações
- Perfil de Competências Licenciado Enfermagem Universidade Dos AçoresDocumento4 páginasPerfil de Competências Licenciado Enfermagem Universidade Dos AçoresHelder PereiraAinda não há avaliações
- HiPoder MocLiseDocumento4 páginasHiPoder MocLiseMichaely NataliAinda não há avaliações
- Neuroanatomia 3.0Documento235 páginasNeuroanatomia 3.0joao sequeiraAinda não há avaliações
- Cuidados de Enfermagem Ao Cliente Com HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTADocumento2 páginasCuidados de Enfermagem Ao Cliente Com HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTAlucaspepe86% (7)
- Abordagem Do Doente CríticoDocumento16 páginasAbordagem Do Doente CríticoVascoPenelaAinda não há avaliações
- Anotações de Enfermagem - Coren SPDocumento24 páginasAnotações de Enfermagem - Coren SPJonathan Paiva100% (1)
- APS Centro Cirúrgico (Edson José)Documento22 páginasAPS Centro Cirúrgico (Edson José)Edson GomesAinda não há avaliações
- Apostila RCP FinalDocumento12 páginasApostila RCP FinalFrank Steve RamosAinda não há avaliações
- ORTOPEDIADocumento46 páginasORTOPEDIAMónica SilvaAinda não há avaliações
- Escala de RamsayDocumento10 páginasEscala de Ramsayrwaa87Ainda não há avaliações
- Plano de Cuidados MGDocumento4 páginasPlano de Cuidados MGBeatriz PereiraAinda não há avaliações
- Apoio Ao Utente Co Dificuldade de DiabularDocumento44 páginasApoio Ao Utente Co Dificuldade de DiabularEnia Marcela Langa LangaAinda não há avaliações
- Técnicas de Enfermagem Manual Prático de 2 EdiçãoDocumento85 páginasTécnicas de Enfermagem Manual Prático de 2 EdiçãoHelida Sodre AndradeAinda não há avaliações
- HipodermocliseDocumento31 páginasHipodermocliseLUCIANA DIAS PEDRO RISSOAinda não há avaliações
- Trauma EsplenicoDocumento100 páginasTrauma EsplenicoEmmanuel Barrios67% (3)
- Caderno de Enfermagem em Ortopedia - Curativos e Orientações BásicasDocumento32 páginasCaderno de Enfermagem em Ortopedia - Curativos e Orientações BásicasPedro AzevedoAinda não há avaliações
- Cuidados de Enfermagem Com Sondas e DrenosDocumento5 páginasCuidados de Enfermagem Com Sondas e DrenosHellen BatistaAinda não há avaliações
- Programa p6 Enfermagem CirurgicaDocumento2 páginasPrograma p6 Enfermagem CirurgicaLucas StterphannAinda não há avaliações
- Material Cirurgico ResumoDocumento18 páginasMaterial Cirurgico ResumoAlladin&Eventos AOAinda não há avaliações
- Residencia Multip - IADES 2021 Enfermagem em Centro CirúrgicoDocumento10 páginasResidencia Multip - IADES 2021 Enfermagem em Centro CirúrgicoAna CarolAinda não há avaliações
- Acidose Metabólica - Livro Elvino.Documento20 páginasAcidose Metabólica - Livro Elvino.Iva Fialho100% (1)
- Livro TextoDocumento25 páginasLivro TextoRobson LourençoAinda não há avaliações
- Anatomia das veias gastrocnêmias em cadáveres humanos adultosNo EverandAnatomia das veias gastrocnêmias em cadáveres humanos adultosAinda não há avaliações
- Relatorio de Estagio Ortopedia - Adao AraujoDocumento27 páginasRelatorio de Estagio Ortopedia - Adao Araujoemanuely.torresAinda não há avaliações
- Esp. Traumatologia BucomaxilofacialDocumento19 páginasEsp. Traumatologia Bucomaxilofacialesteban fernandezAinda não há avaliações
- 1708517528658 (1)Documento14 páginas1708517528658 (1)carolina.amagalhaes01Ainda não há avaliações
- OtorrinolaringologiaDocumento62 páginasOtorrinolaringologiaSerralheiroAinda não há avaliações
- Manual de Odonto Hospitalar ApDocumento46 páginasManual de Odonto Hospitalar ApRenan MotaAinda não há avaliações
- 019 Tratamento Primario Das Fraturas Expostas2014Documento15 páginas019 Tratamento Primario Das Fraturas Expostas2014Amanda SouzaAinda não há avaliações
- Manual de Odontologia HospitalarDocumento32 páginasManual de Odontologia HospitalarArmando JúniorAinda não há avaliações
- Odontologia Hospitalar 2Documento9 páginasOdontologia Hospitalar 2Mayana CristineAinda não há avaliações
- RELATÓRIO DE ESTÁGIO LL RevisandoDocumento13 páginasRELATÓRIO DE ESTÁGIO LL RevisandoGaby Sales100% (1)
- Ibmf Cart OrtogDocumento8 páginasIbmf Cart OrtogThames Bruno BarbosaAinda não há avaliações
- Emergências Médicas para o Cirurgião DentistaDocumento35 páginasEmergências Médicas para o Cirurgião DentistaJúlia MoreiraAinda não há avaliações
- Manual 3 - Prevenção e Controlo Da Infeção Associada Aos Cuidados de SaudeDocumento23 páginasManual 3 - Prevenção e Controlo Da Infeção Associada Aos Cuidados de SaudeRita CardosoAinda não há avaliações
- AEMS - 5e74a89174ecd Isa 7Documento3 páginasAEMS - 5e74a89174ecd Isa 7Isabella DiasAinda não há avaliações
- Atividades Pcmso e PGRDocumento2 páginasAtividades Pcmso e PGRMultclinica DiagnoseAinda não há avaliações
- Guia Prático para Diagnóstico e Tratamento - Síndrome Do Intestino IrritávelDocumento40 páginasGuia Prático para Diagnóstico e Tratamento - Síndrome Do Intestino IrritávelCésar NeroAinda não há avaliações
- Portaria Interministerial MTP Ms #22, de 31 de Agosto de 2022Documento2 páginasPortaria Interministerial MTP Ms #22, de 31 de Agosto de 2022CPSSTAinda não há avaliações
- Relatório de EpidemiologiaDocumento5 páginasRelatório de EpidemiologiaLeila CarvalhoAinda não há avaliações
- CONSTIPAÇÃO INTESTINAL AulaDocumento16 páginasCONSTIPAÇÃO INTESTINAL AulaMicro Point Point100% (1)
- Choque Séptico, Neurogênico e HemorrágicoDocumento26 páginasChoque Séptico, Neurogênico e Hemorrágicopurple_icy_rose82% (22)
- Terapia Nutricional No Paciente Pediátrico Grave: © Direitos Reservados À EDITORA ATHENEU LTDADocumento20 páginasTerapia Nutricional No Paciente Pediátrico Grave: © Direitos Reservados À EDITORA ATHENEU LTDAPetrônio Laciprete TonyAinda não há avaliações
- Simulados PneumoDocumento19 páginasSimulados Pneumosaul martinsAinda não há avaliações
- Protocolo PrematuridadeDocumento17 páginasProtocolo PrematuridadeJúlia BarretoAinda não há avaliações
- Questionario-Higiene Av1Documento8 páginasQuestionario-Higiene Av1Rafael RussoAinda não há avaliações
- Codigo Laranja MorumbiDocumento12 páginasCodigo Laranja MorumbizulaiefAinda não há avaliações
- Ebook Banho de Assento Da CorpoDocumento19 páginasEbook Banho de Assento Da CorpoPablo Miqueias100% (1)
- POP 003 - Administração de Vacina Hepatite B em RNDocumento2 páginasPOP 003 - Administração de Vacina Hepatite B em RNDejair RodolfiAinda não há avaliações
- Consulta de EnfermagemDocumento37 páginasConsulta de EnfermagemSandra Luzinete Felix de FreitasAinda não há avaliações
- Uso Incorreto de Antihipertensos e Antiglicemiantes em UbsDocumento17 páginasUso Incorreto de Antihipertensos e Antiglicemiantes em UbsMarta MarquesAinda não há avaliações
- ImplantNews V5N3Documento116 páginasImplantNews V5N3Tamy OttoboniAinda não há avaliações
- PCR-HCV BrancoDocumento2 páginasPCR-HCV BrancoCARLOS OLIVEIRAAinda não há avaliações
- 75 - Folder UME Amil Espaço Saúde - Pacientes - v9Documento2 páginas75 - Folder UME Amil Espaço Saúde - Pacientes - v9Ricardo RibeiroAinda não há avaliações
- Novos Enfoques Na Distocia em CadelasDocumento8 páginasNovos Enfoques Na Distocia em CadelasDai AnaAinda não há avaliações
- Esquizofrenia Aspectos Genéticos e Estudos de Fatores de Risco PDFDocumento3 páginasEsquizofrenia Aspectos Genéticos e Estudos de Fatores de Risco PDFVictor Castilho BorgesAinda não há avaliações
- Simfort 1Documento12 páginasSimfort 1Ale Araujo100% (1)
- Consulta Revisão de Parto 19-10Documento1 páginaConsulta Revisão de Parto 19-10Karla Karoline Araújo PereiraAinda não há avaliações
- Unimed DivinópolisDocumento71 páginasUnimed DivinópolisRicardo Patricio Pereira100% (1)
- Tutoria 2 - PMSUS 5Documento18 páginasTutoria 2 - PMSUS 5Waldemilson Cleber de Castro VieiraAinda não há avaliações
- Atividade Física para Gestantes e Mulheres No Pós-PartoDocumento10 páginasAtividade Física para Gestantes e Mulheres No Pós-PartoVerônica DuquinnaAinda não há avaliações
- Folheto Informativo DostinexDocumento5 páginasFolheto Informativo DostinexSolange SantosAinda não há avaliações