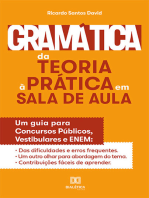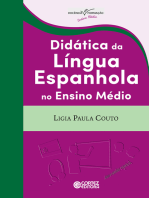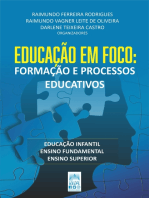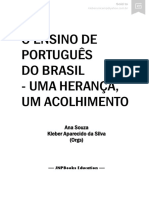Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Noções de Erro e Acerto Na Prática Do Português Do
Enviado por
Elizandra Hoffmann0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
88 visualizações58 páginas1. O documento discute as noções de erro e acerto na prática do português do Brasil pelos professores de língua portuguesa.
2. A autora realizou uma pesquisa com professores em Cáceres, MT para identificar suas concepções sobre correção, erro e acerto, e como lidam com as variedades linguísticas.
3. A pesquisa também buscou identificar fatores que influenciam o ensino da língua e novas propostas apresentadas pelos professores.
Descrição original:
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documento1. O documento discute as noções de erro e acerto na prática do português do Brasil pelos professores de língua portuguesa.
2. A autora realizou uma pesquisa com professores em Cáceres, MT para identificar suas concepções sobre correção, erro e acerto, e como lidam com as variedades linguísticas.
3. A pesquisa também buscou identificar fatores que influenciam o ensino da língua e novas propostas apresentadas pelos professores.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
88 visualizações58 páginasNoções de Erro e Acerto Na Prática Do Português Do
Enviado por
Elizandra Hoffmann1. O documento discute as noções de erro e acerto na prática do português do Brasil pelos professores de língua portuguesa.
2. A autora realizou uma pesquisa com professores em Cáceres, MT para identificar suas concepções sobre correção, erro e acerto, e como lidam com as variedades linguísticas.
3. A pesquisa também buscou identificar fatores que influenciam o ensino da língua e novas propostas apresentadas pelos professores.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 58
ELIZANDRA HOFFMANN
NOES DE ERRO E ACERTO NA PRTICA DO PORTUGUS DO
BRASIL PERSPECTIVAS DE QUEM ENSINA A LNGUA
CCERES/MT
2013
U UN NI IV VE ER RS SI ID DA AD DE E D DO O E ES ST TA AD DO O D DE E M MA AT TO O G GR RO OS SS SO O
C CA AM MP PU US S U UN NI IV VE ER RS SI IT T R RI IO O D DE E C C C CE ER RE ES S J JA AN NE E V VA AN NI IN NI I
D DE EP PA AR RT TA AM ME EN NT TO O D DE E L LE ET TR RA AS S
ELIZANDRA HOFFMANN
NOES DE ERRO E ACERTO NA PRTICA DO PORTUGUS DO
BRASIL PERSPECTIVAS DE QUEM ENSINA A LNGUA
Monografia apresentada ao Departamento
de Letras, como requisito parcial para
obteno do Grau de Licenciado em
Letras, pela Universidade do Estado de
Mato Grosso, sob a orientao da Prof.
Dr Leila Salomo Jacob Bisinoto.
CCERES/MT
2013
DEDICATRIA
DEDICATRIA
Dedico a minha amada filha Mariana
que veio ao mundo durante a realizao do
curso e tornou-me uma pessoa feliz e
realizada, a meu esposo Andr, minha me
Selene, a meu pai Egon e as minhas irms
Elaine e Elisngela, que durante todo o meu
curso me apoiaram e ajudaram. E a todos que
direta ou indiretamente contriburam para o
meu sucesso.
A todos o meu muito obrigado.
AGRADECIMENTOS
Agradeo primeiramente a Deus por dar-me sade e fora nesta caminhada, a
UNEMAT pela oportunidade da formao, aos meus familiares, em especial a minha pequena
Mariana Hoffmann Fiori, meu marido Andr, minha me e meu pai, as minhas irms (minhas
melhores amigas) que ficaram desassistidos por mim neste rduo percurso e mesmo com
minhas ausncias apoiaram- me incondicionalmente. Agradeo tambm a todos os professores
das escolas que participaram da minha pesquisa, Professores e funcionrios da UNEMAT que
ao longo do caminho contriburam com minha formao, em especial a Prof.. Dr. Leila
Salomo Jacob Bisinoto, minha orientadora.
EPGRAFE
[...] as nicas pessoas em condies de
encarar um trabalho de modificao das
escolas so os professores. Qualquer projeto
que no considere como ingrediente prioritrio
os professores desde que estes, por sua vez,
faam o mesmo com os alunoscertamente
fracassar..
Srio Possenti (1996, p.44)
"A leitura uma fonte inesgotvel de
prazer, mas por incrvel que parea, a quase
totalidade, no sente esta sede."
Carlos Drummond de Andrade
RESUMO
Este trabalho prope-se a identificar e analisar as noes de erro e acerto na prtica
dos professores de lngua portuguesa nas escolas de Cceres, bem como indagar sobre sua
relao com a gramtica normativa e o livro didtico no exerccio docente. Procura-se ainda
observar a maneira com que esses profissionais lidam com as variedades da lngua, tanto as de
ordem diatpica (geogrfica), quanto diastrtica (social) e identificar eventuais propostas
inovadoras para o ensino da lngua nas escolas de Cceres.
Palavras-chave: Sociolingustica, Gramtica Normativa, Lngua Portuguesa, Ensino e
Leitura.
SUMRIO
INTRODUO ..................................................................................................................... 9
UM BREVE HISTRICO ................................................................................................... 11
1.1 Histria da Gramtica ................................................................................................. 11
1.2 Processo de Gramatizao do Brasil............................................................................ 13
FUNDAMENTOS TERICOS E METODOLGICOS ...................................................... 17
2.1 Noes de Erro e Acerto na prtica do Portugus do Brasil e a Relao de Lngua e
Sociedade. ........................................................................................................................ 17
2.2 Metodologia ............................................................................................................... 24
ANLISE DO CORPUS ...................................................................................................... 27
3.1 Concepes de Correo, Erro e Acerto adotadas pelo professor. ................................ 27
3.2 Faixa etria, nvel de formao e tempo de docncia em Lngua Portuguesa influenciam
no Ensino da Lngua? ....................................................................................................... 30
3.3 Novas Propostas para o ensino da Lngua Portuguesa. ................................................ 31
3.4 Como os professores lidam com as variedades da lngua. ............................................ 33
3.5 Concluso da Anlise ................................................................................................. 35
CONSIDERAES FINAIS ............................................................................................... 37
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS .............................................................................. 20
ANEXOS ............................................................................................................................. 41
9
INTRODUO
Nos ltimos anos vrios estudiosos, entre eles Mario A. Perini, Luiz Carlos Travaglia,
Wanderley Geraldi e Srio Possenti, desenvolveram propostas para o ensino da Gramtica na
Educao Bsica, com objetivo de facilitar o ensino e a aprendizagem da Lngua Portuguesa.
Tais propostas, ancoradas principalmente nas teorias sociolingusticas, tm suscitado uma
ampla discusso sobre as noes de certo e errado no exerccio oral e escrito da lngua
portuguesa do Brasil. Essa polmica foi intensificada por um caso recente e de abrangncia
nacional, envolvendo um livro didtico disponibilizado pelo Ministrio da Educao de que
falaremos adiante.
Toda essa questo despertou-nos o interesse em saber como os professores das escolas
pblicas e particulares de Cceres elaboram esses conceitos, como lidam com a questo em
sala de aula e que propostas apresentam para equacionar os problemas que resultam nas
contradies que envolvem o ensino da lngua.
Observando que formar professores habilitados para o ensino da Lngua Portuguesa
um dos objetivos do curso de Licenciatura Plena em Letras da Universidade do Estado de
Mato Grosso, e que a Lngua Portuguesa, utilizada nas diversas reas do ensino est passando
por constantes mudanas, entendemos como necessrio e importante investigar o ensino da
Lngua Portuguesa no Brasil, focando nos professores e sua prtica na sala de aula.
Devemos prioritariamente admitir que as variedades lingusticas existem e que grande
parte das regras da Gramtica Normativa esto asseguradas em formulaes relat ivamente
antigas e/ou arcaicas, mas que ainda assim necessrio ensinar a lngua formal (variedade
padro) nas escolas, atendendo a expectativa da educao formal e possibilitando ao aluno
avanar social e profissionalmente.
Nesse sentido, novas formas de praticas do ensino da lngua tm sido elaboradas e
difundidas com rapidez no campo terico do estudo da Lingustica, apontando as contradies
no ensino da Lngua Portuguesa e propondo discusses no intuito de auxiliar o professor a
administr-las na sua prtica docente. Em nosso estudo, optamos por identificar as
contradies existentes nas noes de ERRO E ACERTO no ensino da Lngua Portuguesa.
Partiremos da perspectiva terica de Possenti (1996, p.77-78), que aponta a
contradio da noo de ERRO, com vistas a Gramtica Normativa e Descritiva. Para o
10
autor, a noo de ERRO mais corrente decorre da Gramtica Normativa, pois, erro tudo
que foge variedade padro, ao tempo que na perspectiva da Gramtica Descritiva, erro
somente a ocorrncia de formas ou construes que no fazem parte, de maneira sistemtica,
de nenhuma das variantes de uma lngua.
Essa investigao buscar identificar os fatores de desenvolvimento e aplicao dessas
noes junto aos professores, com vistas a sua formao e suas prticas pedaggicas. Para
isso, desenvolvemos um questionrio direcionado a professores de Lngua portuguesa das
escolas pblicas estaduais e privadas de Cceres, em que procuramos instigar indicadores de
formao e relatos de experincia docente, para identificarmos possveis causas e alternativas,
bem como suas consequncias na formao e convvio dos alunos.
Esta pesquisa estar estruturada, em 3 captulos, alm da introduo, concluso,
bibliografia e anexos. No primeiro captulo, apresentamos um breve histrico da Histria da
Gramtica e do Processo de Gramatizao do Brasil. No segundo captulo, que trata dos
fundamentos tericos e metodolgicos, falaremos sobre as dicotomias igualdade/diversidade,
incluso/excluso, sobre os fatos estudados pela Sociolingustica, relao lngua e sociedade,
preconceito lingustico, Gramtica Normativa e Descritiva, Novas propostas para o ensino da
Lngua, sobre a polmica do Livro Didtico e quais matrias e mtodos sero utilizados. No
terceiro captulo, desenvolvemos a anlise com base nos fatores: Concepes de Correo,
Erro e Acerto adotadas pelo professor; Faixa etria, nvel de formao e tempo de docncia
em Lngua Portuguesa influenciam no Ensino da Lngua? Novas Propostas para o ensino da
Lngua Portuguesa; Como os professores lidam com as variedades da lngua.
Ao final, na Concluso da Anlise, abordaremos as contradies e as coerncias entre
as entrevistas e as propostas de aula utilizadas pelos professores.
11
CAPITULO I
UM BREVE HISTRICO
1.1 Histria da Gramtica
Os registros histricos indicam que a primeira gramtica de que se tem notcia foi a de
Panini, para o snscrito, porm os primeiros estudos formais da gramtica so atribudos aos
gregos. Segundo Suassuna (2001, p. 22), a tradio gramatical no ocidente remonta aos
estudiosos da Grcia Antiga e, em virtude da natureza filosfica de seus estudos e da fora
do Estudo do Certo e do Errado, nasceu na Grcia a gramtica no sentido que mantm at
hoje.
Vale observar que entre os grandes nomes de gramticos gregos est o de Dionsio da
Trcia (II a. C.), considerado o grande organizador da arte da gramtica na antiguidade. Ele
escreveu a primeira gramtica da cultura ocidental, Tkhne Grammatik, em que distingue as
oito partes do discurso. Com ele tem-se a primeira descrio ampla e sistemtica publicada
no mundo ocidental de uma lngua o grego tico (Lyons apud Silva, 2000). A gramtica de
Dionsio serviu de base para as gramticas grega, latina e de outras lnguas europeias at o
Renascimento.
Segundo Neves (2002), destaca-se tambm o gramtico alexandrino, Apolnio
Dscolo (sc. II a. C.), que formulou a primeira teoria sinttica ao estudar a lngua grega. Seus
estudos abrangeram questes de diacronia e estilstica, sendo ele o nico gramtico antigo que
escreveu uma obra completa e independente sobre sintaxe. Os estudos de Dionsio de Trcia e
de Apolnio Dscolo influenciaram consideravelmente no ensino do grego e despertaram o
interesse pelo estudo dessa lngua posteriormente.
Os gramticos latinos basearam-se nos trabalhos gramticos dos gregos. Entre os
latinos, destaca-se Marcus Terentius Varro Varro (116 27 a.C.), e sua obra De lngua
latina, que que foi considerada a primeira gramtica do latim, , com aproximados vinte e seis
volumes, dos quais foram preservados apenas seis, sendo eles os volumes de V a X, que
12
tratam de assuntos como etimologia, morfologia e sintaxe. Varro foi discpulo dos
gramticos Alexandrinos e aplicou a gramtica grega ao latim, definindo a gramtica como
sendo a arte de escrever e falar corretamente e de compreender os poetas (Silva, 2000,
p.19). Varro tornou-se referncia entre os gramticos e sua obra influenciou as gramticas
produzidas posteriormente.
Cabe mencionar, nesta breve evocao histrica, a Gramtica de Port Royal, elaborada
no sculo XVII pelos franceses Arnaud e Lancelot. Essa gramtica considerada como
modelo por grande parte dos gramticos do sculo XVII [e buscava] estabelecer princpios
que no se prendiam descrio de uma lngua particular (ORLANDI, 1986, p. 12-13).
Pensando a estrutura da lngua no mbito da razo, esses autores se preocuparam em
sistematiz-la e estabelecer princpios gerais que possibilitassem eliminar qualquer equvoco e
torn-la clara, precisa e transparente. Essa proposta positiva de organizar a lngua e separar
na linguagem humana o que valido e o que no tem seus efeitos ainda hoje, nos modelos
de gramtica normativa, que secciona, classifica e analisa os fenmenos lingusticos.
Percebe-se, portanto, que da histria herdamos um legado conceitual que resiste e
persiste em nosso tempo, que fixa uma noo de lngua correta, em confronto com o que se
considera errado na prtica discursiva.
Na atualidade, as gramticas elaboradas pelos Alexandrinos e por Varro ainda
refletem no padro gramatical que privilegia a lngua escrita nos moldes clssicos,
sistematizando as regras a partir de uma lngua literria e a elegendo como padro a ser
ensinado aos seus falantes, desprestigiando os seus demais usos. Segundo Lyons
Os gramticos tradicionais se preocuparam mais ou menos exclusivamente com a
linguagem literria, padro; e tendiam a desconsiderar ou a condenar como
incorreto o emprego de formas no consagradas ou coloquiais, tanto no falar como
no escrever. Com freqncia, deixavam de compreender que a linguagem padro ,
de um ponto de vista histrico, to somente o dialeto regional ou social que adquiriu
projeo, tornando-se o instrumento da administrao, da educao e da literatura
(LYONS, 1995, p. 21).
No obstante, vale observar que mesmo sob a forte influncia histrica da gramtica
tradicional, desenvolveram-se outras concepes de gramtica que, se no contrape, diferem
quanto formao do conjunto de regras vlidas. Entre as mais conhecidas podemos citar a
gramtica Descritiva e a gramtica Internalizada.
A Gramtica Descritiva tem como objetivo descrever a estrutura e o funcionamento da
lngua, e ao contrrio da tradicional, no aborda a concepo de certo e de errado,
considerando gramatical tudo o que est em consonncia com as regras de funcionamento da
13
lngua, em qualquer uma de suas variantes. Essa concepo substitui a noo de erro e acerto
pela noo de diferena, adotando e privilegiando uma postura de incluso. Para Crystal
(2000):
Uma gramtica descritiva , em primeiro lugar, a DESCRIO de uma LNGUA da
forma como ela encontrada em amostras da fala e da escrita (em CORPUS do
material e/ou extradas dos FALANTES NATIVOS). /.../ Na tradio mais antiga, a
abordagem descritiva se opunha abordagem PRESCRITIVA de alguns
gramticos, que tentavam estabelecer REGRAS para o uso social ou
ESTILISTICAMENTE correto da lngua (CRYSTAL, 2000, p.129).
A concepo de Gramtica Internalizada, por sua vez, reconhece a gramtica como o
conjunto das regras que o falante de fato aprendeu e das quais lana mo ao falar (Travaglia,
2001, p. 28). Essa noo de gramtica foi defendida por Noam Chomsky e, segundo Perini,
parte do conhecimento implcito de cada pessoa.
/.../ qualquer falante de portugus possui um conhecimento implcito altamente
elaborado da lngua, muito embora no seja capaz de explicitar esse conhecimento.
E veremos que esse conhecimento no fruto de instruo recebida na escola, mas
foi adquirido de maneira to natural e espontnea quanto a nossa habilidade de
andar. Mesmo pessoas que nunca estudaram gramtica chegam a um conhecimento
implcito perfeitamente adequado da lngua. So como pessoas que no conhecem a
anatomia e a fisiologia das pernas, mas que andam, danam, nadam e pedalam sem
problemas (PERINI, 2000, p.13).
Ainda para Perini, a Gramtica um conjunto de regras que definem as combinaes
possveis dos elementos lxicos de uma lngua, assim como sua interpretao semntica e sua
pronncia (2000, p.89).
Notamos nessa breve tomada terica que mesmo nas concepes de gramtica a
contradio existe desde a definio dos conjuntos de regras que avaliam o erro e o acerto na
prtica do uso da Lngua Portuguesa, derivando assim na contradio da prpria noo do que
seria erro e acerto. Nos prximos tpicos retomaremos as discusses referentes gramtica.
1.2 Processo de Gramatizao do Brasil
AUROUX (1992) apresenta duas causas da gramatizao das lnguas. A primeira a
necessidade de aprendizagem de uma lngua estrangeira em um contexto onde j existe uma
14
tradio lingustica e a segunda aborda poltica de uma lngua dada, e pode-se reduzir a dois
interesses: organizar e regular uma lngua literria; desenvolver uma poltica de expanso
lingustica de uso interno ou externo. O Autor classifica Gramatizao como:
A gramatizao um processo que conduz a descrever e a instrumentar uma lngua
na base de duas tecnologias, que so ainda hoje os pilares de nosso saber
metalingustico: a gramtica e o dicionrio. Desse ponto de vista, a gramtica e o
dicionrio no so vistos como simples descries da linguagem natural. Eles so
concebidos tambm como instrumentos lingusticos. (AUROUX, 1992, p. 65)
Partindo da definio de gamatizao elaborada por Auroux, seguimos nosso breve
histrico da concepo de Gramtica como corpo de estudo, para Guimares (1996), se
tomarmos uma posio historiogrfica possvel estabelecer perodos para o estudo do
Portugus no Brasil, partindo da observao de fatos de ordem poltica e institucional. o que
faz o autor ao pontuar os fatores determinantes que lhe possibilitaram definir quatro perodos
para esses estudos.
O primeiro perodo inicia-se em 1500 e segue at a primeira metade do sculo XIX,
momento marcado, entre ouros fatos, pela Independncia do Brasil (1822), pela influncia de
outros pases na vida social e poltica do pas e pelo surgimento de escritores brasileiros
usando uma linguagem prpria, independente do filtro portugus, o que desencadeou debates
e polmicas entre brasileiros e portugueses. Ainda segundo o autor, nesse perodo que se
delineiam os movimentos pela instituio de uma lngua brasileira, de carter nacional, que
vai mobilizar tericos e estudiosos brasileiros na segunda metade do sculo.
O segundo perodo inicia-se na segunda metade do sculo XIX com os debates entre
Jos de Alencar e Pinheiro Chagas; a polmica entre Carlos de Laet e Camilo Castelo Branco
e pela publicao de gramticas de autores brasileiros, como a de Jlio Ribeiro em 1881.
Funda-se a Academia Brasileira de Letras, em 1897 e intensificam-se os esforos para que a
lngua falada no Brasil invista de nacionalidade, para que se tenha uma identidade prpria.
Multiplica-se a produo de gramticas e dicionrios, bem como debates pela imprensa entre
tericos brasileiros, sempre incluindo em pauta questes gramaticais e lxicas. de 1907 a
Gramtica Expositiva de Eduardo Carlos Pereira, que destacamos aqui dado o objetivo deste
trabalho, tendo em vista que essa gramtica foi um instrumento didtico amplamente utilizado
no ensino da lngua portuguesa nas escolas do Brasil. Segundo Guimares (2004, p. 30), essa
gramtica fortemente influenciada pelas posies da gramtica filosfica [que] vo presidir
o modo brasileiro de formular as posies prescritivas sobre a lngua. Guimares delimita o
segundo perodo at fins dos anos 30, quando da fundao das Faculdades de Letras no Brasil.
15
O terceiro perodo, do final dos anos 30 a meados da dcada de 60, o Conselho Federal
de Educao, torna obrigatria a disciplina de Lingustica para os cursos de Letras no Brasil.
Ainda neste terceiro perodo, outros fatos importantes ocorreram, a citar: a fundao das
Faculdades de Letras que passam a constituir-se em espao de pesquisa sobre questes de
linguagem; o acordo ortogrfico de 1943, que estabeleceu a atual ortografia do Portugus do
Brasil, com diferenas relativamente ortografia de Portugal, acordo este que sofre uma
modificao em 1971; em 1941 ocorre a primeira edio de Princpios de Lingustica Geral de
Mattoso Cmara, sendo sua segunda edio, revista e ampliada publicada em 1954. Dentre
outros fatos histricos desse perodo, devemos destacar a publicao da Histria da Lngua
Portuguesa, em 1952,de Serafim da Silva Neto, pois a partir da publicao desta obra passa-
se a considerar a histria da lngua e sua relao com a histria poltica e cultural. J em 1955
publicada A Formao Histrica da Lngua Portuguesa de Silveira Bueno, onde o autor
apresenta, inclusive, estudo sobre a dialetao no Brasil, com as influncias africanas e
indgenas.
Guimares (1996) cita ainda o surgimento da NGB (Nomenclatura Gramatical
Brasileira), em 1958, cuja elaborao contou com patrocnio do Ministrio da Educao e
embora se reduzisse a ser uma organizao terminolgica sem teoria que a sustente
adequadamente, perpetuou-se, pois as gramticas escolares produzidas a partir de ento
adotam consistentemente tal nomenclatura. Segundo o autor, a implantao da NGB se d,
mais especificamente, como uma ao do Estado para unificar o ensino da Lngua Portuguesa
no Brasil, fortalecendo o afastamento de Portugal e estabelecendo uma unidade lingustica
brasileira especfica, distinta da portuguesa.
Em 1965, Celso da Cunha publica Uma Poltica do Idioma, trabalho em que defende
a necessidade de se buscar a unidade da Lngua Portuguesa e, em 1968, publica Lngua
Portuguesa e a Realidade Brasileira que, por outras vias, retoma a questo da unidade do
portugus. Em 1970, Celso da Cunha tambm publica sua Gramtica do Portugus
Contemporneo, obra que aparece com certas modificaes em 1985, em coautoria com
Lindley Cintra, com o nome de Nova Gramtica da Lngua Portuguesa.
O quarto perodo segue de meados dos anos 60 aos dias atuais e nesse perodo que a
Lingustica tornou-se parte dos cursos de graduao em Letras. Para Guimares (1996)
importante ressaltar que, a partir de 1965 por deciso do Conselho Federal de Educao, que
a lingustica passa a fazer parte do currculo mnimo dos cursos de Letras. Nesse mesmo
perodo foram surgindo cursos de Ps-graduao em Lingustica nos centros universitrios
16
brasileiros, sendo em 1966 criado o curso da USP e em 1971 o da Unicamp. Outros
programas se seguem a estes, em diversas modalidades.
Com o avano da Lingustica como rea de estudo, os trabalhos gramaticais se do
numa perspectiva ou estrutural, ou funcional, ou gerativa, surgindo um nmero significativo
de estudos (teses, artigos e livros) que analisam vrios aspectos do Portugus, com alguns
destes trabalhos dedicando-se a analisar a especificidade do Portugus no Brasil.
Surgem ainda nesse perodo trabalhos na rea da Sociolingustica, que seguem tanto a
linha Laboviana variacionista quanto outras perspectivas, como a Interacionista. Estes
trabalhos, em suma, descrevem as variantes regionais brasileiras, bem como a especificidade
do Portugus do Brasil.
Quanto a Lingustica Histrica, desenvolvem-se trabalhos a partir de diversas posies
tericas. Trabalhos feitos a partir da teoria da variao e da mudana, a partir do ponto de
vista gerativo e a partir do ponto de vista discursivo e enunciativo. Nestes trabalhos
encontram-se vrios que tratam das particularidades do Portugus do Brasil, sendo publicado
o dicionrio que passa a ser considerado o oficial do Portugus do Brasil, o Novo Dicionrio
Aurlio (1975), de Aurlio Buarque de Hollanda Ferreira. Segundo Guimares (1996)
interessante notar que essa obra no se d como trabalho acadmico.
Conclui-se, portanto, que a gramtica j nasce como instrumento regulador e
normativo da lngua e assim permanece no decorrer dos sculos. Muito alm de descrever a
lngua falada pelas diferentes sociedades, a gramtica se reveste de uma funo prescritiva:
definir uma forma privilegiada de lngua que deve servir de modelo aos falantes. O
movimento de gramatizao brasileiro iniciado no sculo XIX, alm do interesse de
sistematizar a lngua brasileira e institu-la como lngua nacional, tinha a pretenso poltica de
proclamar uma independncia lingustica de Portugal. Entretanto, percebe-se que mesmo
surgindo outras perspectivas gramticas que teorizavam por reconhecer as variedades e
peculiaridades do portugus do Brasil, a formalidade lingustica no perdeu seu espao e hoje,
o domnio da modalidade culta-padro da lngua uma exigncia para a insero acadmica
e profissional em qualquer rea de conhecimento.
17
CAPITULO II
FUNDAMENTOS TERICOS E METODOLGICOS
2.1 Noes de Erro e Acerto na prtica do Portugus do Brasil e a Relao de Lngua
e Sociedade
A fundamentao desta pesquisa parte da afirmativa elaborada por Bisinoto (2009, p.
21) de que o efeito dos estudos lingusticos nos rumos que vem tomando o aparato jurdico
que regula o ensino no pas inegavelmente notvel e que refletir sobre a linguagem humana
nas suas relaes sociais e polticas significa influir e intervir nos meios de organizao da
sociedade. Segundo ela.
Na atualidade, as dicotomias igualdade/diversidade, incluso/excluso,
justia/iniqidade constituem pauta obrigatria dos grandes debates nacionais e
no apenas no Brasil sobre a educao, o que inclui de forma destacada o ensino
de lngua. No se pode prescindir da gesto poltica das desigualdades lingsticas
(diversidade e variedade), sobretudo depois que os estudos se voltaram para os usos
concretos da lngua e se intensificaram as investigaes sobre as relaes entre
lngua e sociedade. (BISINOTO, 2009, p. 23)
A disciplina da Lingustica que estuda esta relao entre a lngua e a sociedade
justamente a Sociolingustica, e tem como principal objeto o estudo da heterogeneidade
lingustica. Barbosa (2008) afirma que:
As primeiras investigaes acerca de estudos sociolingsticos surgiram a partir de
William Bright (1966) e Fishman (1972), os quais passaram a incorporar os aspectos
sociais nas descries lingsticas. Bright afirmava que "a diversidade lingstica"
precisamente a matria de que trata a Sociolingstica. Segundo ele, as
dimenses desse estudo esto condicionadas a vrios fatores sociais, com os
quais a diversidade lingstica se encontra relacionada nas identidades sociais do
emissor e receptor e na situao comunicativa.
Seguindo os estudos de Bright, Labov (1972) passa a descrever a heterogeneidade
lingustica, sendo que para ele todo fato lingustico relaciona-se a um fato social, e a lngua
sofre implicaes de ordem fisiolgica e psicolgica. Labov considerado o criador da teoria
18
da Sociolingustica Variacionista e foi um dos primeiros estudiosos da rea da linguagem a
perceber a relao entre lngua e sociedade. Para Labov (1972, p.187).
[...] a definio de lngua deve levar em conta, necessariamente, o contexto social, o
que implica atribuir lngua uma funo comunicativa. E enquanto um sistema
evolutivo e heterogneo que a lngua como estrutura -, com seus aspectos
fonolgicos, morfolgicos, sintticos e semnticos, deve ser analisada, sem ser
desvinculada do contexto social de uma certa comunidade de fala.
Cabe aos sociolingusticas o estudo de questes como a identidade lingustica dos
grupos sociais, formas padro ou no padro da lngua, variantes sociais e nveis da
lngua, as atitudes sociais em relao lngua, a base social do multilinguismo, etc. Vale
observar que as variaes lingusticas podem ocorrer no apenas no eixo diatpico (ou
geogrfico), mas tambm no eixo diastrtico (ou social).
Um caso recente que ganhou repercusso nacional e tocou de forma incisiva a questo
da diversidade e variedade da lngua, foi a distribuio do livro Por uma vida melhor, da
professora Helosa Ramos, pelo Programa Nacional do Livro Didtico, do Ministrio da
Educao. Houve uma grande mobilizao, principalmente da mdia nacional, em razo das
orientaes contidas no livro sobre o uso da lngua popular em situaes no formais, uma
lngua descuidada com as normas gramaticais.
O conflito que fomentou o debate pblico expos dois lados dos tericos da lingustica:
os que defendem o rigor normativo da linguagem, sobretudo na escola, e os que acreditam que
as variedades lingusticas tm espao/lugar na vida social, a depender do contexto em que o
locutor se encontra. Uma das autoras do livro, a professora Heloisa Ramos, em entrevista,
defende sua publicao como forma de mostrar aos alunos que tolerado todo tipo de
linguagem.
No queremos ensinar errado, mas deixar claro que cada linguagem adequada para
uma situao. Por exemplo, na hora de estar com os colegas, o estudante fala como
prefere, mas quando vai fazer uma apresentao, ele precisa falar com mais
formalidade. S que esse domnio no se d do dia para a noite, ento a escola tem
que ter currculo que ensine de forma gradual. (Heloisa Ramos. iG Braslia |
12/05/2011 16:08)
Interessante observar que esse contexto de debates muito semelhante ao que ocorreu
no incio do sculo XX. Retomando o captulo anterior deste trabalho, lembramos que
ocorreram nesse perodo debates nacionais, patrocinados pela imprensa, sobre normativas
lingusticas, ressaltando aqui a clebre polmica envolvendo Rui Barbosa e Carneiro Ribeiro
19
(Cf. PAGOTTO, Emilio Gozze, 2011). Esses debates ajudaram a desenhar os contornos da
lngua culta brasileira, pois pe em discusso os conceitos de formalidade e informalidade da
lngua.
Alm de fomentar discusses sobre os conceitos de formalidade, os embates pblicos
por vezes, evidenciam os preconceitos lingusticos velados. No caso da polmica atual sobre a
mobilizao da imprensa nacional na questo da publicao do livro gramaticalmente
incorreto, Srio Possenti publica em 25/11/2011, no veculo de comunicao Estado
Online, um artigo, cujo ttulo Analisar e opinar. Sem ler, onde critica a superficialidade
das anlises amplamente publicizadas pela imprensa e a constatao do preconceito
lingustico para com o uso de formas no formais da lngua.
O jornalismo nativo teve uma semana infeliz. Ilustres colunistas e afamados
comentaristas bateram duro em um livro, com base na leitura de uma das pginas de
um dos captulos. Houve casos em que nem entrevistado nem entrevistador
conheciam o teor da pgina, mas apenas uma nota que estava circulando (meninos,
eu ouvi). Nem por isso se abstiveram de "analisar". S um exemplo, um conselho e
uma advertncia foram considerados. E dos retalhos se fez uma leitura enviesada. Se
fossem submetidos ao PISA, a classificao do pas seria pior do que a que tem sido.
Possenti afirma que trs passagens do livro causaram a comoo da mdia, referindo-
se ao uso da frase os livro e as contrape, justificando que as anlises no se baseiam no
conhecimento real da gramtica, mas sim na viso estreita de um manual de uso da lngua
culta. A primeira passagem refere-se ao entendimento da gramtica como um conjunto de
regras gramaticais da lngua culta, quando o autor afirma que [...] quem acha que gramtica
quer dizer gramtica normativa toma o conceito de regra como lei e o de lei como ordem,
contrapondo que na lingustica, regra / lei tem outro sentido e refere-se regularidade. Para o
autor, se analisado todo o captulo do livro, os livro segue uma regra e gramtica
conjunto de regras, tambm descritivas. A segunda passagem o sentido da sentena se
pode dizer os livro, marcada pelo (des) entendimento da palavra "pode", expresso com
significado entre possibilidade e autorizao, publicizada pela mdia no sentido de deve,
levando a concluso de que o livro ensina errado e que considera o errado como certo. Por
ltimo, uma advertncia da possibilidade de preconceito com pessoas que falam os livro foi
preconizada pela mdia, ao tempo que para o autor o preconceito j existe, comprovado
inclusive com a mobilizao que ocorreu acerca da aceitao, na escola, da forma no culta de
falar, pois achou-se que no h preconceito lingustico. Mas a celeuma mostra que h, e est
vivssimo. E do restante do livro nada mais foi comentado.
20
Outra publicao de nosso interesse sobre a polmica e que aqui representa nos dias
atuais a dicotmica histrica foi a entrevista com um dos mais autorizados gramticos
brasileiros, Evanildo Bechara, publicada no site iG em 13/05/2011. Entre outras
consideraes, o estudioso da lngua declara-se contrrio a aceitao da linguagem no formal
no ambiente escolar:
[...] o aluno no vai para a escola para aprender ns pega o peixe. Isso ele j diz
de casa, j aquilo que ns chamamos de lngua familiar, a lngua do contexto
domstico. (...) o papel da educao justamente tirar a pessoa do ambiente estreito
em que vive para alcanar uma situao melhor na sociedade. Essa ascenso social
no vai exigir somente um padro de lngua, vai exigir tambm um novo padro de
comportamento social.
Tomamos esse episdio como referncia, pois ele ilustra uma das questes de interesse
da Sociolingustica na atualidade: a dicotomia Variantes de prestgio x Variantes
estigmatizadas. O reflexo dessa diviso que caracteriza a lngua se faz sentir nas relaes
sociais, muito especialmente na escola, e tem como ponto de discusso a noo de norma.
A palavra norma, em sua definio, trata do normal, da regra, do padro, em
contraposio ao que se excede a ela, o anormal, o irregular. o que nos esclarece Bisinoto
(2009, p. 43).
Os dicionrios nos dizem que a palavra norma traz do latim o sentido de esquadro,
regra, modelo, padro, e, por extenso, o normal o que /est conforme norma.
Partindo do suposto de que a norma que determina o que normal na sociedade,
cumpre indagar: o que no est conforme norma anormal, anomalia,
irregularidade e, em ltima instncia, marginalidade?
Ainda segundo a autora no mbito da linguagem, como se sabe, o conceito
generalista de norma est historicamente ligado s prticas do bem-falar e do bem-escrever,
em conformidade com as regras gramaticais e contrariamente ao que foge a elas (p. 43).
Bisinoto lembra que os estudos lingusticos apontam a existncia de formas ideolgicas de
superioridade lingustica agindo em duas dimenses: a primeira de uma lngua sobre a outra; e
a segunda de uma variedade sobre a outra numa mesma lngua.
A Gramtica Normativa torna-se prescritiva quando sugere que tudo aquilo que no
estiver de acordo com as normas, com as regras gramaticais, considerado errado. Quem
explica isso Possenti (1996), ao dizer que: A noo mais corrente de erro a que decorre
da gramtica normativa: erro tudo aquilo que foge variedade que foi eleita como exemplo
de boa linguagem. (p.77). O problema, segundo ele, que os "os exemplos de boa
21
linguagem", normalmente so buscados num passado mais ou menos distante e algumas vezes
arcaico.
J para a Gramtica Descritiva, gramtica o [...] conjunto de regras que so
seguidas a que orienta o trabalho dos linguistas, cuja preocupao descrever e/ou
explicar as lnguas tais como elas so faladas. (Possenti, 1996, p.49) Segundo o autor, na
perspectiva da gramtica descritiva s seria erro a ocorrncia de formas ou construes que
no fazem parte, de maneira sistemtica, de nenhuma das variantes de uma lngua. (1996,
p.78). Para ele, todos sabem a lngua, mesmo crianas que a patir de trs anos falam por
horas, assim como pessoas no alfabetizadas ou que tiveram pouco acesso aos estudos, mas
cada um fala de acordo com o lugar em que vive ou com a classe social a que pertence.
Qualquer um poderia objetar que todos falam, mas errado. Por ora, diria que a
definio de erro um problema complexo, e no apenas uma questo de norma
gramatical da lngua escrita. (...) diria que os erros que condenamos s so erros se o
critrio de avaliao for externo lngua ou ao dialeto, ou seja, se o critrio for
social. Mas, se adotssemos esse critrio para todos os casos, deveramos tambm
concluir que so erros todos os modos diferentes de falar, mesmo os que so tpicos
de outras lnguas. (POSSENTI, 1996, p. 29).
Nesse contexto, saber falar significa saber uma lngua e saber uma lngua saber uma
gramtica. Portanto, saber uma gramtica no significa decorar algumas regras que se
aprendem na escola, ou saber fazer algumas anlises morfolgicas e sintticas, pois mais
profundo do que esse conhecimento o conhecimento intuitivo ou inconsciente, que
necessrio para falar efetivamente a lngua.
No mesmo raciocneo, para Bagno (2007), existe um mito, o qual ele chama de Mito
N6, a exigncia de que o certo falar assim porque se escreve assim:
(...) o Mito 6 expressa a prtica milenar de confundir lngua em geral com escrita e,
mais reduzidamente ainda, com ortografia oficial. A tal ponto que uma elevada
porcentagem do que se rotula de erro de portugus , na verdade, mero desvio da
ortografia oficial. (BAGNO, 2007, p.121).
Para ele, preciso ensinar a escrever de acordo com a ortografia oficial, mas no se
pode fazer isso criando uma lngua falada artificial e considerar erradas as pronncias,
que so resultado natural das foras internas que governam o idioma, ou seja, as variaes
lingusticas.
Infelizmente, existe uma tendncia (mais um preconceito!) muito forte no ensino da
lngua de querer obrigar o aluno a pronunciar do jeito que se escreve, como se
22
essa fosse a nica maneira certa de falar portugus. (Imagine se algum fosse falar
ingls ou francs do jeito que se escreve!) Muitas gramticas e livros didticos
chegam ao cmulo de aconselhar o professor a corrigir quem fala muleque, bjo,
minino, bisro, como se isso pudesse anular o fenmeno da variao, to natural e
to antigo na histria das lnguas. Essa supervalorizao da lngua escrita combinada
com o desprezo da lngua falada um preconceito que data de antes de Cristo!
Bagno (2007, p.51)
O autor afirma que cientificamente no existe erro de portugus, pois todo falante
nativo de uma lngua um falante plenamente competente dessa lngua e justifica alegando
que ningum comete erros ao falar sua prpria lngua e S se erra naquilo que aprendido,
naquilo que constitui um saber secundrio, obtido por meio de treinamento, prtica e
memorizao (2007, p.123). Bagno complementa argumentando que a lngua materna no se
trata de um saber secundrio, adquirida pela criana ainda no tero e por isso qualquer
criana de 3 ou 4 anos de idade domina plenamente a gramtica de sua lngua.
que est em jogo aqui, evidentemente, a noo de erro e seu estreito vnculo com o
que tradicionalmente chamado de portugus. Como j mostrei, existe, no nvel da
lngua escrita, a confuso entre portugus e ortografia oficial da lngua portuguesa.
No nvel da lngua falada, os termos que se confundem, ou que so tomados como
equivalentes, so portugus, gramtica normativa e variedade padro. (BAGNO,
2007, p.124).
Sendo assim, para a lngua escrita seria pedagogicamente proveitosa a substituio de
erro por tentativa de acerto, pois a lngua escrita uma tentativa de analisar a lngua falada, e
essa anlise ser feita por um usurio da escrita no momento de escrever sua mensagem
conforme seu perfil sociolingustico. J no que diz respeito lngua falada, fica claro que o
rtulo de erro aplicado a toda e qualquer manifestao lingustica que se diferencie das
regras prescritas pela gramtica normativa.
Retomemos neste ponto Possenti, (1996, p.16). Segundo ele [...] adoto sem qualquer
dvida o princpio (quase evidente) de que o objetivo da escola ensinar o portugus padro,
ou, talvez mais exatamente, o de criar condies para que ele seja aprendido. Qualquer outra
hiptese um equvoco poltico e pedaggico. Porm, o autor pondera:
Se nossas perguntas so sempre sobre o que certo ou errado, e se nossas respostas
a essas perguntas so sempre e apenas baseadas em dicionrios e gramticas, isso
pode revelar uma concepo problemtica do que seja realmente uma lngua, tal
como ela existe no mundo real, isto , na sociedade complexa em que falada. Os
dicionrios e as gramticas so bons lugares para conhecer aspectos da lngua, mas
no so os nicos e podem ate no ser os melhores. POSSENTI, (1996, p.21-22).
O autor enfatiza que Lngua No Se Ensina, Aprende-Se, pois notvel como todas
23
as crianas aprendem com velocidade espantosa um objeto complexo, e sem ser ensinadas,
pois de fato, os pais, ou adultos em geral, no ensinam as lnguas s crianas. Ele lembra que
a questo da aquisio da linguagem um tanto misteriosa. E afirma que:
Em resumo, poderamos enunciar uma espcie de lei, que seria: no se aprende por
exerccios, mas por prticas significativas. Observemos como esta afirmao fica
quase bvia se pensarmos em como uma criana aprende a falar com os adultos com
quem convive e com seus colegas de brinquedo e de interao em geral. POSSENTI,
(1996, p.37).
Para Possenti, (1996, p.38-39) O modo de conseguir na escola a eficcia obtida nas
casas e nas ruas imitar da forma mais prxima possvel as atividades lingusticas da vida.
Na vida, na rua, nas casas, o que se faz falar e ouvir. Na escola, as prticas mais relevantes
sero, portanto, escrever e ler.
Outro tema abordado pelo autor, com o qual encerramos esta discusso terica, :
Ensinar A Lngua Ou Ensinar A Gramtica. Possenti ressalta que todas as sugestes feitas
por ele s faro sentido se os professores estiverem convencidos,
[...] ou puderem ser convencidos de que o domnio efetivo e ativo de uma
lngua dispensa o domnio de uma metalinguagem tcnica. Em outras palavras,
se ficar claro que conhecer uma lngua uma coisa e conhecer sua gramtica
outra. Que saber uma lngua uma coisa e saber analis-la outra. Que saber
usar suas regras uma coisa e saber explicitamente quais so as regras outra. Que
se pode falar e escrever numa lngua sem saber nada "sobre" ela, por um lado, e que,
por outro lado, perfeitamente possvel saber muito "sobre" uma lngua sem saber
dizer uma frase nessa lngua em situaes reais. POSSENTI, (1996, p.41)
Finalmente, considere-se que as noes de erro e acerto na lngua dividem opinies
quando se pe em jogo a questo do ensino da lngua e o papel da escola nesse particular.
Tambm se mostra importante nesse debate os conceitos de lngua e linguagem, de
normatizao lingustica, variao e diversidade, preconceito lingustico, entre outras questes
complexas que, muitas vezes, produzem efeito de desorientao da prtica pedaggica, que
no difcil perceber intuitivamente.
Como disseram os autores acima citados, o conflito no novo, porm resiste ao
tempo e chega aos dias atuais com uma grande amplitude, o que desperta o interesse de
linguistas, gramticos, pedagogos e socilogos, bem como da sociedade em geral, pois afeta
um setor de fundamental importncia: a educao.
24
2.2 Metodologia
Segundo MEILLET (1921, apud CALVET, 2002, p. 16) Por ser a lngua um fato
social resulta que a lingustica uma cincia social, e o nico elemento varivel ao qual se
pode recorrer para dar conta da variao lingustica a mudana social. Sabendo que a
sociolingustica uma cincia social que aborda as relaes existentes entre lngua e
sociedade observando sua heterogeneidade, optamos por abordar a afirmativa de Marconi e
Lakatos de que a pesquisa tem importncia fundamental no campo das cincias sociais,
principalmente na obteno de solues para problemas coletivos (1999, p.18). Nesta mesma
linhagem de pensamento, a pesquisa social definida por Gil como:
(...) o processo formal e sistemtico de desenvolvimento do mtodo cientfico. O
objetivo fundamental da pesquisa descobrir respostas para problemas mediante o
emprego de procedimentos cientficos.
A partir dessa conceituao, pode-se, portanto, definir pesquisa social como o
processo que, utilizando a metodologia cientfica, permite a obteno de novos
conhecimentos no campo da realidade social. Gil, (1999. p.42).
Ainda falando sobre pesquisa, Marconi e Lakatos (199) abordam que a pesquisa tem
que ser planejada em trs etapas: 1 fase preparao da pesquisa, momento em que se
elaboram os objetivos; 2 fase da pesquisa, etapa na qual ocorre a seleo de mtodos e
tcnicas, a serem utilizados durante a pesquisa e 3 execuo da pesquisa, caracterizada pela
coleta de dados e execuo da pesquisa.
Esta pesquisa constitui-se segundo estes trs procedimentos; no 1 delimitamos os
objetivos como sendo:
Verificar se os professores esto aderindo s novas propostas de ensino da
lngua, ou se mantm o ensino tcnico da gramtica normativa nas aulas de
portugus.
Observar se a diferena na faixa etria e nvel de formao dos professores
influenciam na forma como eles trabalham a lngua portuguesa nas escolas.
Identificar as teorias lingusticas aplicadas pelos professores em sua prtica,
bem como suas concepes de correo e erro em relao lngua.
Indagar sobre as maneiras com que os professores lidam com as variedades da
lngua, tanto as de ordem diatpica (geogrfica), quanto diastrtica (social).
25
Identificar eventuais propostas inovadoras para o ensino da lngua nas escolas
de Cceres.
No segundo momento escolhemos a tcnica de Questionrio para desenvolver esta
pesquisa. Ribeiro (2008, p.13) destaca os pontos fortes e fracos desta e de outras tcnicas de
coleta de dados. Para o questionrio ele elenca como pontos fortes:
Garante o anonimato;
Questes objetivas de fcil pontuao;
Questes padronizadas garantem uniformidade.
Deixar em aberto tempo para as pessoas pensarem sobre as respostas;
Facilidade na converso de dados para arquivo de computador;
Custo razovel.
Optamos por esta prtica de coleta justamente por manter o anonimato do sujeito da
pesquisa e por deixar em aberto tempo para as pessoas pensarem sobre as respostas.
Imaginando que estes dois pontos facilitariam a nossa coleta, informamos que no sero
disponibilizados neste trabalho os questionrios originais, pois os mesmos contm dados
pessoais dos participantes. Nos anexos disponibilizaremos uma copia do questionrio
aplicado e a transcrio dos dados obtidos com a pesquisa excluindo os dados pessoais
relevantes.
Na terceira e ltima fase da pesquisa ocorre a aplicao do questionrio ao pblico
desejado. Vale relembrar que esta pesquisa foi realizada com o aporte terico da
Sociolingustica e o corpus a ser analisado constitui-se do resultado do questionrio realizado
com doze (12) Professores de Lngua Portuguesa de dez escolas, sendo (8) pblicas e (2)
privadas do Municpio de Cceres. Os professores so de ambos os sexos, idade e grau de
formao variados, que esto lecionando nas series entre o 6 ano do ensino fundamental e o
3 ano do ensino mdio. Esta delimitao necessria, pois neste perodo existem professores
especficos para o ensino da lngua portuguesa, diferentemente das series iniciais da educao.
Seguiram-se os seguintes procedimentos:
Seleo das dez Escolas envolvidas, obedecendo ao critrio de Localizao e o
Mantenedor (Optamos por selecionar escolas da rede pblica estadual e
26
privada que atendem aos vrios bairros da cidade, incluindo a regio central e
os bairros perifricos, garantindo assim uma amostra mais significativa de
dados).
Entrega de ofcio de apresentao da acadmica pesquisadora s Escolas e
apresentao individual do projeto aos professores.
Pr-seleo dos sujeitos da pesquisa perante preenchimento de questionrios
relativo idade, ao tempo de Servio na Educao e ao grau de formao
profissional, juntamente com o aceite de participao na pesquisa.
Aplicao do questionrio com questes relativas ao ensino de lngua
portuguesa que possibilitem aos professores demonstrarem quais concepes
lingusticas os orientam no ensino da lngua materna, assim como a noo de
Erro e Acerto utilizada na prtica da docncia.
Recolhimento do questionrio.
Transcrio de respostas do questionrio e anlise de dados.
valido ressaltar que todos os participantes foram previamente avisados de que seus
dados pessoais, assim como os dados das Escolas, no seriam publicados, e que as escolas e
os entrevistados sero identificados por letras e nmeros no corpo da pesquisa.
27
CAPITULO III
ANLISE DO CORPUS
A proposta inicial desta pesquisa consistia-se em entrevistar uma quantidade mnima
de 20 professores de Lngua portuguesa, porm tendo percorrido 22 escolas, entre pblicas e
particulares e apresentado o projeto desta pesquisa para mais de 50 professores, obtivemos 20
professores dispostos a participar e destes 20, o total 12 contriburam com a pesquisa.
Aps a busca dos sujeitos da pesquisa, iniciou-se a etapa da investigao por meio de
perguntas e respostas, e logo ao fim desta iniciamos o processo de analise das entrevistas,
procurando alcanar os objetivos proposto para esta pesquisa. Como abordado incialmente,
esta pesquisa foi realizada com aporte terico da Sociolingustica e tem como objetivo central
observar as concepes de Correo, Erro e Acerto adotadas pelo professor em sua prtica
docente.
3.1 Concepes de Correo, Erro e Acerto adotadas pelo professor
Retomando as duas principais concepes de Erro e Acerto abordadas nesta pesquisa,
temos a perspectiva da Gramtica Normativa afirmando que tudo o que no estiver de acordo
com as normas e regras gramaticais considerado errado e, a perspectiva da gramtica
descritiva, que s considera erro a ocorrncia de formas ou construes que no fazem parte,
de maneira sistemtica, de nenhuma das variantes de uma lngua.
Perguntamos para os professores quais as Noes De Erro e Acerto, utilizadas por eles
na prtica docente e o porqu de adotarem (optarem) por estas noes diante das constantes
mudanas sofridas pela Lngua Portuguesa nos ltimos anos e tambm do surgimento de
propostas diferenciadas para seu ensino nas escolas. Obtivemos as seguintes respostas dos
sujeitos da pesuisa.
28
Sujeito n1: No uso os dogmas de erro e acerto, sim de adequado para
comunicao e no adequado para a comunicao. Porque acredito ser a
melhor maneira de acabar com o preconceito lingustico.
Sujeito n 2: Erro e Acerto so as adequaes e inadequaes no uso da lngua
e so delimitados com uso do dicionrio e dos livros.
Sujeito n3: A lngua evolui, porm, porm, nossa lngua tem regras a serem
seguidas principalmente na escrita. Portanto correes gramaticais so
inventveis na escrita e tambm valorizando a ideia central do texto.
Sujeito n4: Erro - as escolas devem evitar tomar como erros de portugus as
construes que as pessoas cultas no percebem mais como equivocadas.
Acerto o professor no deve abrir mo de seu trabalho fundamentado na tica,
no respeito a dignidade prpria e a do aluno.
Sujeito n5: Dizer que est Certo ou Errado uma questo de semntica, que
devemos realmente observar e inferir so nos quesitos habilidades e
competncias do individuo quanto a fala e a escrita, orientando-o ao que trato
do que aceitado e bem visto pela comunidade letrada.
Sujeito n6: Procuro sempre me aperfeioar atravs e cursos, palestra. S
considero erro quando no fao isso.
Sujeito n7: A noo de erro no assunto simples de ser discutido, menos
ainda neste pequeno espao. Em resumo possvel dizer que do ponto de vista
da norma padro h diferentes nveis de erro, desde ortogrficos, passando
pelos concordncias e aprofundando-se para nveis de coerncia, isso no que
tange a lngua escrita. Esses diferentes tipos de erro so determinados pela
gramtica normativa e devem ser observados.
Sujeito n8: Erro o que foge a regra do bom portugus, e acerto e o que est
certo, o que o livro o dicionrio e a gramtica diz, no gosto de ficar floreando
a lngua e dizer que certo, certo e certo e errado errado
Sujeito n9: Sempre procuro comparar o uso da lngua com a moda das roupas,
entram e saem da moda novidades todo o tempo, mas os clssicos prevalecem.
Na duvida de preferncia o uso do culto para no correr o risco de errar.
Sujeito n10: Digo que quanto mais tentam simplificar, mas complicam, h
sempre a necessidade de mostrarmos, quando importante saber a lngua
29
padro, o resto conversa. A gramtica sempre ser o modelo que deve ser
ensinado.
Sujeito n11: Trabalho com leitura e reflexo da escrita, assim o aluno pensa
quando vai escrever, se escreve errado, peo para ler reler a palavra e
perceber onde ocorreu o erro. Este erro na escrita que tem que manter as
regras gramaticais e a coeso.
Sujeito n12: Erro o que foge as regras do bom portugus, o portugus que
eles utilizaro em trabalhos escolares e para o resto da vida, falar errado com
grias essas coisas ele j fazem, na escola temos e que exigir o velho e bom
portugus culto. Acerto quando ele consegue expor de forma clara seus
objetivos sem cometer erros ortogrficos e de concordncia por exemplo.
Analisando as respostas dos participantes observamos que os sujeitos n 2, 3, 7, 8, 9,
10, 11 e 12 partilham da ideia de certo e errado abordada na Gramtica normativa. Segundo
Cipro Neto (1996) A Gramtica normativa estabelece a norma culta, ou seja, o padro
lingustico que socialmente considerado modelar e adotado para ensino nas escolas e para
a redao dos documentos oficiais..
O Sujeito n 1 prefere abordar como adequado ou no adequado o uso de certas
formaes para a comunicao. Neste caso, podemos lembrar Possenti (1996, p.94) ao afirmar
que A moral da histria que no existem propriamente textos errados e textos corretos
(pelo menos, nem sempre), mas, fundamentalmente, textos mais ou menos adequados, ou
mesmo inadequados a determinadas situaes. O sujeito n 4 acredita que no deve ser
considerado erro de portugus as construes que as pessoas cultas no percebem mais como
equivocadas, no considerando a perspectiva das gramticas Normativa e Descritiva, toma
como referncia as pessoas cultas da sociedade.
O Sujeito n 5 acredita que definir certo ou errado uma questo de semntica, e o que
deve ser observado so as habilidades e competncias do individuo quanto a fala e a escrita,
observando o que aceito e bem visto pela comunidade letrada. Acreditamos que o sujeito n
6 no entendeu a questo, pois a resposta dele no se enquadra a pergunta feita no
questionrio.
30
3.2 Faixa etria, nvel de formao e tempo de docncia em Lngua Portuguesa
influenciam no Ensino da Lngua?
Aps a transcrio dos dados dos questionrios observar se diferenas na faixa etria,
nvel de formao e tempo de docncia em Lngua Portuguesa influenciam no Ensino da
Lngua, ou se estes itens no fazem diferena na prtica docente.
Os professores participantes tm as seguintes caractersticas:
SUJEITO IDADE (anos) FORMAO
TEMPO DE DOCNCIA EM
LNGUA PORTUGUESA
1 34 Mestrado 5 anos
2 44 Ps-Graduao 14 anos
3 33 Ps-Graduao 5 anos
4 56 Ps-Graduao 23 anos
5 34 Graduao 3 anos
6 57 Ps-Graduao 24 anos
7 35 Mestrado 4 anos
8 56 Ps-Graduao 16 anos
9 43 Ps-Graduao 15 anos
10 43 Ps-Graduao 23 anos
11 37 Ps-Graduao 5 anos
12 No declarou Ps-Graduao 8 anos
Para comear a falar de formao observamos que todos os sujeitos da pesquisa tem
algo em comum, todos se formaram na Universidade do Estado de Mato Grosso, dois deles
quando ela ainda chamava-se Instituto de Ensino Superior de Cceres, nos anos de 1982 e
1988. Os demais formaram-se entre os anos de 1994 e 2008.
Podemos observar em conversa com os professores e tambm atravs das entrevistas
que alguns professores esto afastados da universidade e de formaes complementares a um
tempo consideravelmente longo, tendo alguns 10 anos ou mais da ltima formao, e que
outros esto a menos tempo afastados como o caso dos sujeitos n 1, 3, 7, 9 e 11 que
terminaram sua graduao e ps-graduao e mestrado a menos de trs anos.
31
Observamos, ainda, que alguns destes professores desconhecem as novas propostas
para o ensino da lngua, assim como a verdadeira rea de estudo da Sociolingustica. alguns
chegaram a dizer que a Sociolingustica, com essa frescura de Variao Lingustica, tem a
inteno de ensinar para os alunos um portugus errado, aceitando qualquer coisa que o aluno
coloque no papel. Outros como o caso do sujeito n 10 avalia negativamente as mudanas
que esto correndo no ensino da lngua Portuguesa: Digo que quanto mais tentam
simplificar, mas complicam, h sempre a necessidade de mostrarmos, quando importante
saber a lngua padro, o resto conversa. A gramtica sempre ser o modelo que deve ser
ensinado; o Sujeito n 5 qualificou o ensino de Sociolingustica e as novas propostas para o
ensino da lngua como demagogia acadmica de mestre e doutores.
Mesmo com essas observaes e com o questionrio, acabamos por perceber que a
pesquisa foi ineficiente para avaliar se os quesitos idade, formao e tempo de docncia em
Lngua Portuguesa interferem negativamente ou no no ensino da lngua materna, pois
observamos professores com muitos anos de experincia e uma viso bastante crtica e
inovadora do ensino da lngua e professores completamente presos s amarras do ensino da
gramtica normativa como verdade absoluta. Podemos observar esta afirmativa a partir da fala
do sujeito n 2 que est em sala h 14 anos e avalia que as variaes lingusticas devem ser
valorizadas. O trabalho em sala de aula para que o aluno saiba adequar s variedades
dependendo de cada situao de comunicao e se um dilogo informal, claro que se pode
usar a linguagem informal, mas se o aluno estiver apresentando algo conveniente que se
opte pela Lngua Padro.
3.3 Novas Propostas para o ensino da Lngua Portuguesa
Dedicamos um espao especial para este tpico, quando apresentamos o projeto da
pesquisa aos professores pesquisados. Conversamos com eles sobre as propostas sugeridas
por autores como Mario A. Perini, Luiz Carlos Travaglia, Wanderley Geraldi e Srio Possenti,
para o ensino da lngua. No questionrio perguntamos aos professores se eles tm algum
projeto, alguma didtica diferenciada e/ou inovadora que visa melhorar o ensino da Lngua
Portuguesa em suas aulas. Se a resposta fosse positiva, solicitamos a descrio de alguma
delas. Encontramos as seguintes respostas.
32
Sujeito n1: Tenho uma prtica docente no digo inovadora mas coerente
com a minha concepo de linguagem. Interacionista/ discursiva/ dialgica
levando em considerao as condies de produo dos alunos e claro, dando-
lhes condies de produo.
Sujeito n 2: Projeto de Leitura.
Sujeito n3: Procuro sempre usar o que os alunos tm a oferecer em favor das
aulas. Esse mtodo ajuda muito, ainda mais hoje com o uso constante da
tecnologia, no momento em que os nmeros vivem de linguagem visual.
Sujeito n4: Projeto de leitura, os alunos esto saindo da escola sem saber ler,
sem bom senso para comunicar-se fora de situaes a que esto acostumados.
Sujeito n5: No existe formula mgica, contudo e plausvel beber de cada
fonte, para alcanar o que se est querendo ensinar, aprender e apreender no
aluno as informaes didticas, pedaggicas e o que o mundo passa para a
formao sociocultural do mesmo.
Sujeito n6: Projeto: Escrevendo Histrias de vidas e Letras de musica.
Sujeito n7: Sim a cada bimestre os alunos, individualmente leem um livro
escolhido da biblioteca para fazer avaliao de leitura.
Sujeito n8: O que estou tentando fazer incentivar os alunos a adquirir o
habito da leitura, pois ajuda na aprendizagem da lngua culta.
Sujeito n9: Em breve terei o prazer de trabalhar com o uso de mdias em sala
de aula e analisa os ditos no site da internet para sabermos diferenciar oral e
escrito.
Sujeito n10: Uso minha experincia, humor e seriedade.
Sujeito n11: Tenho sim, trago varias literaturas, revistas como a Super
Interessante; Mundo Estranho, e tambm gibis, contos clssicos, textos
instrucionais entre outros, instrumentos que possam melhorar e incentivar o
habito da leitura.
Sujeito n12: No tenho projeto s estimulo o habito a leitura, exploro bem os
textos que o livro didtico traz e quando preciso trago textos de fora para
complementar.
Observa-se neste tpico que nove dos doze entrevistados, ou tem projetos relacionados
leitura ou a produo textual, e os elencam como fatores fundamentais para um melhor
33
ensino do portugus. Possenti (1996, p. 50) ressalta que deveria ser feito um levantamento do
conhecimento prtico de leitura e escrita que os alunos j atingiram e, por comparao com o
projeto da escola, uma avaliao do que ainda lhes falta aprender e afirma que Alm disso,
se a escola tiver um projeto de ensino interessante, atravs da leitura esse aluno ter tido cada
vez mais contato com a lngua escrita, na qual se usam as formas padres que a escola quer
que ele aprenda.. Partindo desta afirmativa, considera-se vlida a prtica dos projetos de
leitura e produo, mas tem que observar apenas se eles esto em conformidade com as
necessidades dos alunos participantes.
O Sujeito n1 declara que tem uma concepo de linguagem Interacionista e faz uso
do texto e da gramtica, por serem partes indissociveis em alguns gneros. Como textos
dissertativos, o Sujeito n 3 procura sempre usar o que os alunos tm a oferecer em favor das
aulas, realiza suas aulas a partir das necessidades dos alunos, utilizando dos recursos
tecnolgicos, porque no processo de escrita importante que os alunos faam relaes com a
atualidade, formulem crticas e reflexes. O Sujeito n 10 afirmou usar a prpria experincia,
humor e seriedade, no esclarecendo quais experincias e como utiliza.
Podemos observar que assim como os autores citados acima, os professores de Lngua
portuguesa reconhecem a leitura como pea fundamental para a aprendizagem da lngua e
formao do sujeito sociocultural. Retomando Possenti (1996, p.85) Trocando em midos,
prioridade absoluta para a leitura, para a escrita, a narrativa oral, o debate e todas as formas de
interpretao (resumo, parfrase etc.). Segundo ele essas que so as melhores estratgias
para ensinar lngua e gramtica.
3.4 Como os professores lidam com as variedades da lngua
Neste momento, o objetivo observar como os professores de lngua portuguesa lidam
com as variedades da lngua, tanto as de ordem diatpica (geogrfica), quanto diastrtica
(social). Segundo Bisinoto (2007): Em Cceres ocorre uma estigmatizao da linguagem
nativa precipitando o seu desaparecimento. Assim como a linguagem nativa de Cceres outras
variantes so vtimas de preconceito, e nas escolas observarmos alunos sendo perseguidos e
ou satirizados por falarem diferente. Como voc age quando ocorre discriminao,
34
desvalorizao ou superiorizao de uma Variedade Lingustica? Para esta pergunta
obtivemos os seguintes apontamentos.
Sujeito n1: Busco junto com os participantes da comunicao refletir sobre a
variao. Buscando se for o caso nos estudos diacrnicos para explicar. Caso
no seja possvel explico pelo vis do funcionamento da lngua na sociedade.
Sujeito n 2: No acredito que seja comum que, em sala de aula, o aluno seja
perseguido por falar diferente, nas raras vezes que isso ocorreu procuro
mostrar que a lngua no esttica, sofre variaes e quem faz uma lngua so
os falantes e no uma gramtica.
Sujeito n3: Procuro orientar os mesmo para que respeitem, pois a variedade
lingustica faz parte do nosso cotidiano. Remos alunos de varias partes do
Brasil e comum que eles falem diferente. Ento o respeito a base de tudo.
Na lngua falada tudo e valido desde que se faa entender procurando adequar-
se a cada ambiente.
Sujeito n4: A lngua nosso principal meio de comunicao, apesar de todos
os sistemas j inventado pelo homem para expressar seus pensamentos nenhum
supera a linguagem verbal em praticidade e eficincia. Quando ocorre
discriminao fao indagao absolutamente verncula e mais perfeitamente
pertinente s questes das falas diferentes, pois quase nunca as palavras soam
como se escreve.
Sujeito n5: Desde que comecei a trabalhar na disciplina nunca houve situao
do tipo, at mesmo por que, existe um tpico na grade curricular denominada
variedades regionais, que ajuda na compreenso dos chamados sotaques, ou
cunhos regionalistas.
Sujeito n6: Procuro orientar melhor sobre a linguagem popular e linguagem
culta.
Sujeito n7: Tenho uma postura firme no combate a todo ripo de
discriminao, quer seja lingustica ou social.
Sujeito n8: Informo aos alunos que cada lugar tem uma maneira de falar, cada
um pronuncia com um sotaque diferente, que no est errado nem feio.
Sujeito n9: No ocorre muito em nossa escola, quase todos nossos alunos so
daqui da regio mesmo, porm sempre pregamos a bandeira do respeito acima
35
de tudo, mas mesmo na diferena temos que cuidar a escrita, para no
transcrevermos os erros da oralidade.
Sujeito n10: Isso no ocorre muito em nossa escola, trabalhamos o respeito
acima de tudo, mas caso ocorra optamos por explicar que e normal ser
diferente e que imaginem como seria o mundo se todos fossem iguais.
Sujeito n11: Eu trabalho muito as diferenas e o respeito, ento cada ano fica
mais tranquilo, esta questo.
Sujeito n12: preciso mostrar o valor que tem uma cultura, a beleza de cada
identidade. No admito falta de respeito como prximo.
Em suma, todos os professores relatam ter postura contra qualquer forma de
preconceito, alguns dizem que no h ocorrncia de preconceito relacionado lngua em suas
escolas, alguns argumentam que a probabilidade para isso no ocorrer que o pblico
atendido pela escola praticamente da mesma regio. Eles tambm relatam que caso venha a
ocorrer algum tipo preconceito ou discriminao por variao lingustica ou social, explicaro
que no h problema em ser diferente e que cada regio e ou pessoa tem caractersticas
particulares, e que estas caractersticas possibilitam sabermos que aquela pessoa no daquela
regio.
3.5 Concluso da Anlise
O que parece incontestvel que cada professor tem uma prtica diferente de ensinar e
que, como vimos, muito deles, assim como Possenti e outros autores, reconhecem a leitura e a
produo textual como um fator extremamente importante para melhorar a aprendizagem e
ensino da Lngua portuguesa, pois discutem propostas para o ensino de gramtica na
disciplina de Lngua Portuguesa, na Educao Bsica, priorizando formar alunos com
capacidade de refletir a lngua e sobre a lngua e seu funcionamento.
Constatamos que alguns professores ainda esto focalizados no ensino sistemtico da
gramtica normativa como regra de bem dizer e bem escrever. Outra observao que merece
destaque o uso do livro didtico como nico instrumento de apoio tanto ao professor quanto
36
ao aluno, apesar das insistentes recomendaes de que deva ser utilizado como mais um dos
muitos recursos para o ensino da lngua.
Possenti (1996, p.41) afirma que Todas as sugestes feitas nos textos anteriores s
faro sentido se os professores estiverem convencidos ou puderem ser convencidos de
que o domnio efetivo e ativo de uma lngua dispensa o domnio de uma metalinguagem
tcnica. Para ele, conhecer uma lngua uma coisa e conhecer sua gramtica outra, assim
como saber uma lngua diferente de saber analis-la. E que principalmente que algum pode
falar e escrever numa lngua sem saber nada "sobre" ela, assim como possvel saber muito
"sobre" uma lngua sem saber dizer uma frase nessa lngua em situaes reais.
Um fato que no poderamos deixar passar sobre como os professore veem o ensino
da lngua portuguesa, qual a importncia que eles atribuem ao trabalho da escola neste aspecto
O Sujeito n1 defende que o professor de Lngua Portuguesa deve ter em mente que o aluno j
conhece sua lngua materna e que, como professores, devemos orient-los a utiliz-la com
competncia em diversos nveis de comunicao. O Sujeito n2 vem complementar dizendo
que um dos objetivos do ensino da lngua portuguesa propiciar ao falante o uso da lngua
com propriedade, tanto na oralidade quanto na escrita, adequando-a as situaes especficas,
ou seja, formar alunos com capacidade de refletir a lngua e sobre a lngua e seu
funcionamento.
37
CONSIDERAES FINAIS
Quando iniciamos a pesquisa para obteno do corpus de anlise, espervamos
conseguir um nmero consideravelmente maior de participantes Por este motivo, sentimo-nos
parcialmente frustrada: dos mais de 50 professores convidados a participar apenas 12
devolveram o questionrio respondido.
O resultado da pesquisa sanou grande parte das duvidas que nos induziram a realizar a
pesquisa. Pudemos observar que a maioria dos professores participantes reconhece a
gramtica normativa como lei quando se trata de definir Erro e Acerto no ensino da lngua
materna. Observamos ainda o fato de alguns professores que esto em atividade docente
desconhecerem o arcabouo conceitual e metodolgico da Sociolingustica, alguns julgam seu
essa abordagem cientfica como desculpa para ensinar errado ou ainda Demagogia dos
Mestres e Doutores que atuam nas Universidades.
Elencamos como fato mais relevante desta pesquisa o reconhecimento, por parte dos
professores, da importncia de fortalecer o habito de leitura e produo textual, assim como a
descentralizao do livro didtico como nica ferramenta de apoio educacional. Reconhecem
que vivemos na era da tecnologia, e sua incluso nas metodologias educacionais pode
fortalecer e/ou aumentar o acesso dos alunos ao conhecimento. Notou-se tambm o fato dos
professores estarem conscientes da importncia do ensino da norma culta nas escolas, sem
desconsiderar a existncia das variantes lingusticas.
Para finalizar, retomamos a fala de dois grandes autores brasileiros. O primeiro o
gramtico brasileiro Evanildo Bechara que em uma entrevista ao site IG no ano de 2011
explica que o aluno no vai para a escola aprender a lngua coloquial, a que ns chamamos de
lngua familiar, a lngua do contexto domstico, porque esta ele j sabe, e que o papel da
educao justamente tirar a pessoa do ambiente em que vive estagnado para alcanar uma
situao melhor na sociedade. Refora Bechara que a elevao de nvel social no exigir do
sujeito somente um padro de lngua, mas tambm um novo padro de comportamento social.
Ressalta ainda a importncia do domnio da lngua materna na formao do sujeito como
formador de opinio e membro importante de uma sociedade heterognea.
O segundo Srio Possenti (1996, p.11), que enfatiza a necessidade de clareza do
objetivo da escola no ensino de lngua portuguesa. Segundo ele Talvez deva repetir que
adoto sem qualquer dvida o princpio (quase evidente) de que o objetivo da escola ensinar
o portugus padro, ou, talvez mais exatamente, o de criar condies para que ele seja
38
aprendido. Qualquer outra hiptese um equvoco poltico e pedaggico. O interessante e
observar que ambos defendem o ensino da lngua padro na escolas, o que os diferencia so as
metodologias propostas para alcanar esse objetivo.
39
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ARBEX, Thais. Livro usado pelo MEC ensina aluno a falar errado. 12/05/2011.
Disponvel em: http://poderonline.ig.com.br/index.php/2011/05/12/livro-usado-pelo-mec-
ensina-aluno-a-falar-errado/, acesso 26/09/2013.
AUROUX, S. A revoluo tecnolgica da gramatizao. Campinas, SP: Ed. Unicamp,
1992.
BAGNO, Marcos. Preconceito Lingstico: O que , como se faz. 49 edio. So Paulo:
Loyola, 2007.
BARBOSA, Maria do Carmo. A Sociolingustica e seu papel metodolgico no ensino da
linguagem oral. 10/09/2008. Disponvel em: http: //www.webartigos.com/artigos/a-
sociolinguistica-e-seu-papel-metodologico-no-ensino-da-linguagem-oral/9229/, acesso em:
setembro/2013.
BISINOTO, Leila S. J. Atitudes sociolingsticas: efeitos do processo migratrio. 1. ed.
Campinas: Pontes Editores, 2007.
___________________ Migraes internas, norma e ensino da lngua portuguesa.
Campinas: Editora RG, 2009.
BRASIL, Ministrio da Educao. Dossi - Livro Didtico. Disponvel em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16649#terra
, acesso 26/09/2013.
CALVET, L. Sociolingstica: uma introduo crtica. Trad. de Marcos Marcionilo. So
Paulo: Parbola, 2002.
CIPRO Neto P, INFANTE U. Gramtica da lngua portuguesa. So Paulo: Scipione; 1998.
CRYSTAL.D. Dicionrio De Lingstica E Fontica. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor,
2000.
GIL, Antnio Carlos. Mtodos e tcnicas de pesquisa social. 5. ed. So Paulo: Atlas, 1999.
GUIMARES, E. & O R LANDI, E. P. (orgs.). Lngua e cidadania: o portugus no Brasil.
Campinas: Pontes, 1996. (Histria das idias lingsticas).
GUIMARES, E. R. J. Histria da semntica: sujeito, sentido e gramtica no
Brasil.Campinas, So Paulo: Pontes, 2004.
____________________. Sinopse dos Estudos do Portugus No Brasil. In: Eduardo
Guimaraes; EniOrlandi. (Org.). Lngua e Cidadania. 1 ed. Campinas, 1996.
LABOV, William. Sociolinguistic Patterns. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press,
1972.
40
LEO, NAIARA. "No somos irresponsveis", diz autora de livro com "ns pega".
12/05/2011. Disponvel em:
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/nao+somos+irresponsaveis+diz+autora+de+livro+c
om+nos+pega/n1596948804100.html, acesso 26/09/2013.
LYONS, J. As idias de Chomsky. So Paulo: Cultrix, 1995.
MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Tcnicas de pesquisa. 3. Ed. So
Paulo:Atlas, 1999.
MONTEIRO, Jose Lemos. Para compreender Labov. 3. ed. Petrpolis, RJ: Vozes, 2008.
NEVES, M. H. M. A gramtica: histria, teoria e anlise, ensino. 1. ed. So Paulo: Editora
UNESP, 2002.
ORLANDI, E.P. Lngua e conhecimento lingstico: para uma histria das idias no Brasil.
So Paulo, Cortez, 2002.
______________. O Que Lingustica . 1 ed. So Paulo: Brasiliense, 1986.
PAGOTTO, Emilio Gozze. Rui Barbosa e a crise normativa brasileira. In: D. Callou e A.
Barbosa (orgs). A norma brasileira em construo: cartas a Rui Barbosa (1886 a 1899). Rio
de Janeiro: Fundao Casa de Rui Barbosa, 2011, p. 105-166.
PERINI, M. A. Para uma nova gramtica do portugus. 10. ed. So Paulo: tica, 2000.
POSSENTI, Srio. Por que (no) ensinar gramtica na escola. Campinas, SP : Mercado de
Letras : Associao de Leitura do Brasil, 1996.
RIBEIRO, Elisa. A perspectiva da entrevista na investigao qualitativa. In: Evidncia,
olhares e pesquisas em saberes educacionais. Nmero 4, maio de 2008. Arax. Centro
Universitrio do Planalto de Arax.
SUASSUNA, L. Ensino de lngua portuguesa: uma abordagem pragmtica. 4. ed.
Campinas: Papirus Editora, 2002.
TRAVAGLIA, L. C. Gramtica e interao: uma proposta para o ensino de gramtica no 1
o e 2 o graus. 6. ed. So Paulo: Cortez Editora, 2000.
41
ANEXOS
42
PESQUISA PARA OBTENO DE CORPUS DE ANLISE.
Esta pesquisa ser utilizada como corpus de anlise, na elaborao do Trabalho de
Concluso de Curso da Acadmica ELIZANDRA HOFFMANN. O trabalho intitulado
como: NOES DE ERRO E ACERTO NA PRTICA DO PORTUGUS DO BRASIL
PERSPECTIVAS DE QUEM ENSINA A LNGUA. valido ressaltar que todos os sujeitos
da pesquisas devem estar cientes que seus dados pessoais, assim como o questionrio e os
dados das Escolas, no sero publicados, e que as escolas e os participantes sero
identificados por letras e nmeros no corpo da pesquisa.
Estando ciente que esta pesquisa tem objetivos estritamente acadmicos e que
participei de forma voluntaria e que fui devidamente informado e esclarecido pelo
pesquisador sobre a pesquisa e os procedimentos nela envolvidos. Afirmo que aceitei
participar por minha prpria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro e com a
finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa.
Questionrio.
Nome:
Idade: Sexo: F() M ( )
Formao
1) Quando Concluiu Graduao? Qual era o Curso? Onde Fez?
2) Qual sua formao atual?
3) Quando terminou sua ultima Formao?
4) H quantos anos atua como professor da disciplina de Lngua Portuguesa?
5) Voc professor Efetivo ou Contratado?
Ensino de Lngua Portuguesa:
43
6) Em sua opinio quais so os objetivos do ensino de Lngua Portuguesa?
7) Qual o papel do professor de Lngua Portuguesa?
8) Qual material faz base para seu trabalho em sala de aula, o texto ou a Gramtica? Por
qu?
9) Quais mtodos de ensino voc utiliza em suas aula? (aulas expositivas, seminrios,
etc.).
10) Voc utiliza em suas aulas recursos tecnolgicos, ou faz uso apenas do livro didtico?
Por qu?
11) Qual sua posio em relao do ensino da Gramtica Normativa e das Variaes
Lingusticas. Como voc trabalha isso em sala de aula?
12) Segundo Bisinoto (2007): Em Cceres ocorre uma estigmatizao da linguagem
nativa precipitando o seu desaparecimento. Assim como a linguagem nativa de
Cceres outras variantes so vitimas de preconceito, comum nas escolas
observarmos alunos sendo perseguidos e ou satirizados por falarem diferente. Como
voc age quando ocorre discriminao, desvalorizao ou superiorizao de uma
Variedade Lingustica?
13) Diante das constantes mudanas sofridas pela Lngua Portuguesa nos ltimos anos e
tambm do surgimento de propostas diferenciadas para seu ensino nas escolas. Qual a
Noes De Erro e Acerto, utilizada por voc em sua pratica docente? Por qu?
14) Quanto ao uso recorrente dos alunos da linguagem informal, no culta, em sala de
aula como voc trabalha? Intervm, corrigindo a forma de eles se manifestam
oralmente, ou deixa que eles dialoguem de forma livre, com uso de grias e variaes?
Por qu?
15) Voc tem algum projeto, alguma didtica diferenciada e/ou inovadora, que visa
melhorar o ensino da Lngua Portuguesa em suas aulas? Se sim Qual?
Transcrio das Respostas dos Sujeitos da Pesquisa
44
Nome: Sujeito 1
Idade: 34Anos Sexo: F(X ) M ( )
Formao
1) Conclui em 2003 Letras UNEMAT.
2) Mestrado.
3) No ano de 2011.
4) 5 anos.
5) Celetista Escola Particular.
Ensino de Lngua Portuguesa:
6) O professor de Lngua Portuguesa deve ter em mente que o aluno j conhece sua lngua
materna e que como professores devemos orient-los a utiliz-la com competncia em
diversos nveis de comunicao.
7) Como professores devemos orient-los a utilizar a lngua com competncia em diversos
nveis de comunicao.
8) O texto e a gramtica. So partes indissociveis em alguns gneros. Como textos
dissertativos.
9) Aula expositiva; atividades orientadas; seminrios; etc.
10) Sim, os recursos tecnolgicos so de suma importncia. Porque no processo de escrita
importante que os alunos faam relaes com a atualidade, formulem crticas e reflexes.
Assim, o ensino faz sentido, no s de LP, como de outras reas de conhecimento.
11) A gramtica prescritiva no faz sentido para o ensino de Lngua Portuguesa Brasileira. A
lngua sofre mudanas regionais, por grupos sociais, etc. Os alunos devem conhecer as
variantes e respeit-las. Porm, devemos ensin-los a norma culta que tambm faz parte de
uma variao. Afinal a escola no pode perder sua funo de constituir alunos/sujeitos que
possam utilizar a lngua em diversos modos de comunicao.
45
12) Busco junto com os participantes da comunicao refletir sobre a variao. Buscando se
for o caso nos estudos diacrnicos para explicar. Caso no seja possvel explico pelo vis do
funcionamento da lngua na sociedade.
13) No uso os dogmas de erro e certo sim, adequado para comunicao e no adequado para
a comunicao. Porque acredito ser a melhor maneira de acabar com o preconceito
lingustico.
14) Fao intervenes quando necessrio. Como eu disse, a escola no pode esquecer de seu
papel.
15) Tenho uma prtica docente no digo inovadora mas coerente com a minha concepo
de linguagem. Interacionista/ discursiva/ dialgica levando em considerao as condies de
produo dos alunos e claro, dando-lhes condies de produo.
Nome: Sujeito 2
Idade: 41Anos Sexo: F( X ) M ( )
Formao
1) Conclui em 1994 Letras UNEMAT.
2) Ps-Graduao.
3) No ano de 2000.
4) 14 anos.
5) Efetivo - Estado.
Ensino de Lngua Portuguesa:
6) Propiciar ao falante o uso da lngua com propriedade, tanto na oralidade quanto na escrita,
adequando a as situaes especficas.
7) Auxiliar o aluno a utilizar de maneira adequada a lngua.
8) O texto. Porque a gramtica se faz presente nos textos.
46
9) Vrios: Aulas expositivas, seminrios, debates e leitura.
10) De acordo com o objetivo da aula utilizo recursos tecnolgicos, livro didtico, livro
paradidtico, textos que circulam na sociedade .
11) As variaes lingusticas devem ser valorizadas. O trabalho em sala de aula para que o
aluno saiba adequar as variedades dependendo de cada situao de comunicao.
12) No acredito que seja comum que, em sala de aula, o aluno seja perseguido por falar
diferente, nas raras vezes que isso ocorreu procuro mostrar que a lngua no esttica, sofre
variaes e quem faz uma lngua so os falantes e no uma gramtica.
13) Erro e Acerto so as adequaes e inadequaes no uso da lngua e so delimitados com
uso do dicionrio e dos livros.
14) Tudo depende da situao, se um dilogo informal, claro que se pode usar a linguagem
informal mas se, o aluno estiver apresentando algo conveniente que se opte pela Lngua
Padro.
15) Projeto de Leitura.
Nome: Sujeito 3.
Idade: 33Anos Sexo: F( X ) M ( )
Formao
1) Conclui em 2008 Letras UNEMAT.
2) Ps-Graduao.
3) No ano de 2012.
4) 5 anos.
5) Contratado - Estado.
Ensino de Lngua Portuguesa:
6) fundamental para a participao social efetiva, um dos fatores decisivos ao
desenvolvimento integral do individuo. As metodologias devem estar voltadas para a
formao de um cidado capaz de interagir com a realidade que se apresenta; Construir o
47
conceito de lngua como fenmeno cultural, social, histrico varivel, heterogneo, dinmico
e sensvel ao contexto de uso.
7) Auxiliar os alunos a diferenciar linguagem formal da informal - incentivando-os a falar e a
escrever corretamente de acordo com as normas da linguagem, para uma linguagem formal.
Lembrando que na linguagem informal valido variaes.
8) O texto seguido da gramtica . A gramtica trabalhada no contexto.
9) Vrios: Aulas expositivas, seminrios, pesquisas, leitura e escrita, data show.
10) Todos os recursos disponveis na escola ( que so poucos), e o livro como complemento .
11) A gramtica Normativa a regra da linguagem, trabalhada em contexto os dirios em
sala. E as variaes lingusticas so colocadas em pauta para que os alunos respeitem uns aos
outros e saibam diferenciar variaes da linguagem formal e aprendam que na fala valido,
mas na escrita formal e considerado erro.
12) Procuro orientar os mesmo para que respeitem, pois a variedade lingustica faz parte do
nosso cotidiano. Remos alunos de varias partes do Brasil e comum que eles falem diferente.
Ento o respeito a base de tudo. Na lngua falada tudo e valido desde que se faa entender
procurando adequar-se a cada ambiente.
13) A lngua evolui, porm, porm, nossa lngua tem regras a serem seguidas principalmente
na escrita. Portanto correes gramaticais so inventveis na escrita e tambm valorizando a
idia central do texto.
14) Oriento sempre para cuidarem na escrita. Por que eles acostumam falar e depois escrever
em textos formais.
15). Procuro sempre usar o que os alunos tm a oferecer em favor das aulas. Esse mtodo
ajuda muito, ainda mais hoje com o uso constante da tecnologia, no momento em que os
nmeros vivem de linguagem visual.
Nome: Sujeito 4.
Idade: 56Anos Sexo: F( X ) M ( )
Formao
1) Conclui em 1982 Letras Instituto de Ensino Superior de Cceres Atual Unemat .
48
2) Ps-Graduao.
3) No ano de 2002.
4) 23 anos.
5) Efetivo - Estado.
Ensino de Lngua Portuguesa:
6) - discutir um ensino que amplie a conscincia sobre o idioma; - Adequar a necessidade do
idioma a formalidade da situao; - ensinar as variantes adequadas a cada contexto; - munir os
alunos contra a ignorncia.
7) No se pode separar o papel do professor da aprendizagem do aluno e das polticas
educacionais. Uma poltica educacional na rede estadual se traduz na formao de professor,
que por sua vez, se traduz na aprendizagem dos alunos e exige a construo de metas a serem
atingidas no processo de aprendizagem.
8) Ningum pode, nos dias de hoje, ignorar o fato de que qualquer aluno dispem de uma
quantidade mais do que expressiva de informaes sobre quase todo o domnio do
conhecimento. Textos para ler e produzir o mais significativo indicador de bom desempenho
lingustico, por que explica a capacidade de atingir o resultado esperado.
9) Ambos, pesquisas com leitura. Essa utilidade indiscutvel no mbito escolar, o seu
carter indisciplinar, o trao mais relevante, j que interfere decisivamente no aprendizado de
todas as demais matrias, no mbito extraescolar, constitui uma condio indispensvel para o
exerccio da cidadania.
10) Sim, utilizo recursos Tecnolgicos como ferramenta para analisar os mecanismos de
construo textual e capacitar o aluno a operar com seus mecanismos.
11) A responsabilidade pelo ensino da Gramtica Normativa e das variaes lingusticas
implica ser capaz de aprender os significados inscritos no interior de um texto e de
correlacionar tais significados com o conhecimento de mundo que circula no meio social onde
o texto produzido.
12) A lngua nosso principal meio de comunicao, apesar de todos os sistemas j inventado
pelo homem para expressar seus pensamentos nenhum supera a linguagem verbal em
praticidade e eficincia. Quando ocorre discriminao fao indagao absolutamente
49
verncula e mais perfeitamente pertinente s questes das falas diferentes pois quase nunca as
palavras soam como se escreve.
13) Erro - as escolas devem evitar tomar como erros de portugus as construes que as
pessoas cultas no percebem mais como equivocadas. Acerto o professor no deve abrir mo
de seu trabalho fundamentado na tica, no respeito a dignidade prpria e a do aluno.
14) preciso melhor distribuir o saber. A pesquisa significa a possibilidade de integrar todos
os graus de ensino (tais como o uso de grias e variaes lingusticas) e envolver outros
seguimentos escolares, dando chance aos alunos e professores de atuarem efetivamente na
Lingustica.
15) Projeto de leitura, os alunos esto saindo da escola sem saber ler, sem bom senso para
comunicar-se fora de situaes a que esto acostumados.
Nome: Sujeito 5
Idade: 34 Anos Sexo: F( ) M (X )
Formao
1) Conclui em 2004 Letras UNEMAT.
2) Graduado
3) No ano de 2004.
4) 3 anos.
5) Contratado Estado
Ensino de Lngua Portuguesa:
6) Melhoramento na expresso, esttica e desenvolver habilidade no que diz respeito lngua
materna e portuguesa.
7) Esclarecer quando aos aparatos scio cognitivos inerentes Lngua Portuguesa e a formar
pessoas competentes s variedades lingusticas e suas atribuies leitura e letramento.
50
8) Os dois, ambos esto intrinsicamente ligado s competncias da e na linguagem sejam ela,
escrita, falada ou pictoria.
9) tanto aula expositiva quanto seminrios, o tradicional, giz, quadro, multimdia e pesquisas
no laboratrio de informtica..
10) sim, multimdia, lousa mgica ou digital, vdeo-aula.
11) Extremamente necessria, sem demagogia acadmica de mestre e doutores.
12) Desde que comecei a trabalhar na disciplina nunca houve situao do tipo, at mesmo por
que , existe um tpico na grade curricular denominada variedades regionais, que ajuda na
compreenso dos chamados sotaques, ou cunhos regionalistas.
13) Dizer que est Certo ou Errado, uma questo de semntica, que devemos realmente
observar e inferir so no quesitos habilidades e competncias do individuo quanto a fala e a
escrita, orientando-o ao que trato do que aceitado e bem visto pela comunidade letrada
14) somente interfiro na produo textual escrita, e quando h atividades inerentes literatura,
quanto ao uso informal entendo que seria pedante e demaggica exigir uma lngua, linguagem
extremamente acadmica, o que tornaria a comunicao truncada e maante ao interlocutor.
15) No existe formula mgica, contudo e plausvel beber de cada fonte, para alcanar o que
se est querendo ensinar, aprender e apreender no aluno as informaes didticas,
pedaggicas e o que o mundo passa para a formao sociocultural do mesmo.
Nome: Sujeito 6
Idade: 57Anos Sexo: F( ) M (X)
Formao
1) Conclui em 1988 Letras Instituto de Ensino Superior de Cceres Atual Unemat.
2) Ps- Graduado.
3) No ano de 1996.
4) 24 anos.
51
5) Efetivo Estado.
Ensino de Lngua Portuguesa:
6) Orientar no uso da lngua escrita expandindo seu conhecimento atravs da produo e
interpretao de textos orais e escritos, bem como a interao de seus prprios textos. Refletir
sobre a importncia da lngua como base de uma identidade sociocultural.
7) Ensinar o cidado para compreender a importncia da nossa lngua na luta do dia-a-dia.
8)os dois por que o texto voc conhece os gneros textuais e a gramtica ajuda voc a
conhecer a linguagem cultural com mais rigor e as regras de como escrever.
9) Os dois.
10) Utilizo mais o livro didtico, mas quando posso uso TV
11) A gramtica normativa e importante, mas, um pouco rgida. Agora as variaes
lingusticas so muito liberais aceitam qualquer coisa e so apreciada por todos ns.
12) Procuro orientar melhor sobre a linguagem popular e linguagem culta.
13) Procuro sempre me aperfeioar atravs e cursos, palestra. S considero erro quando no
fao isso.
14)Gosto muito de orient-lo dizendo que pode ate usar de forma popular mas de forma culta
no.
15) Projeto: Escrevendo Histrias de vidas e Letras de musica.
Nome: Sujeito 7.
Idade: 35Anos Sexo: F() M (X)
Formao
1) Conclui em 2004 Letras Unemat .
2) Mestre.
3) No ano de 2012.
52
4) 10 anos lecionando e 04 em Lngua Portuguesa.
5) Efetivo Estado.
Ensino de Lngua Portuguesa:
6) Proporcionar condies que auxiliem o aluno na aquisio da linguagem culta em sua
modalidade escrita/oral, bem como a formao do carter e da conscincia critica.
7) Propor situaes de aprendizagem, que propiciem a aquisio da linguagem culta de
maneira significativa para o aluno.
8) Textos e gramtica. Os textos auxiliam no entendimento contextualizado de itens
gramaticais.
9) Aulas expositivas e estudos em grupo.
10) Utilizo novas tecnologias, como laptop, data show, caixa de som, ferramentas que se bem
utilizadas tornam a aula mais ldica e significativa..
11) O ensino da norma culta imprescindvel na escola, no entanto e necessrio levar em
conta todas as outras variedade.
12) Tenho uma postura firme no combate a todo ripo de discriminao, quer seja lingustica
ou social.
13) A noo de erro no assunto simples de ser discutido, menos ainda neste pequeno
espao. Em resumo possvel dizer que do ponto de vista da norma padro h diferentes
nveis de erro, desde ortogrficos, passando pelos concordncias e aprofundando-se para
nveis de coerncia, isso no que tange a lngua escrita. Esses diferentes tipos de erro so
determinados pela gramtica normativa e devem ser observados.
14) Nos momentos oportunos, mostro que h outras formas de dizer aquilo que foi dito
informalmente.
15) Sim a cada bimestre os alunos, individualmente leem um livro escolhido da biblioteca
para fazer avaliao de leitura.
Nome: Sujeito 8.
Idade: 56Anos Sexo: F(X) M ( )
53
Formao
1) Conclui em 1998 Letras Unemat .
2) Ps-Graduada
3) No ano de 2002.
4) 16 anos lecionando.
5) Efetivo Estado.
Ensino de Lngua Portuguesa:
6) Ensinar a escrever e falar bem.
7) Auxiliar o aluno em sala, com o uso do livro didtico, dicionrio, aplicao de textos e
exerccios.
8) Os dois, utilizo mais a gramtica por que ela bastante cobrada em concursos e
vestibulares.
9) Atualmente utilizo mais aula expositiva e o livro didtico, pois os alunos no esto
dominando o contedo para apresentarem seminrios e lem apenas pequenos textos.
10) As vezes vou a sala de informtica ou uso a TV.
11) Mostro aos alunos que a lngua muda temporariamente e geograficamente e socialmente,
mas que na escola aprende-se a lngua da gramtica normativa que ela igual para todos.
12) Informo aos alunos que cada lugar tem uma maneira de falar, cada um pronuncia cm um
sotaque diferente, que no est errado nem feio.
13) Erro o que foge a regra do bom portugus, e acerto e o que est certo, o que o livro o
dicionrio e a gramtica diz, no gosto de ficar floreando a lngua e dizer que certo, certo e
certo e errado errado.
14) Informo aos alunos que uma vez que eles tem contato com a lngua culta, devem optar em
us-la no dia-a-dia, pois quando maio RO nvel de escolaridade maior ser a cobrana como
uso da lngua.
15) O que estou tentando fazer incentivar os alunos a adquirir o habito da leitura, pois ajuda
na aprendizagem da lngua culta.
54
Nome: Sujeito 9.
Idade: 43Anos Sexo: F( X ) M ( )
Formao
1) Conclui em 2007 Letras Unemat .
2) Ps-Graduao.
3) No ano de 2010.
4) 15 anos.
5) Efetivo - Estado.
Ensino de Lngua Portuguesa:
6) Desenvolver no educando o habito de ler, escrever, interpretar e produzi texto para
melhoria do processo Ensino- aprendizagem e comunicao.
7) Conseguir que seu aluno atinge seu objetivo atravs da comunicao
8) Os dois, pois no devemos abandonar o tradicional mas podemos inovar com o texto.
9) Seminrio, trabalhos em grupo e aulas expositivas.
10) Os dois depende do assunto, gosto de fazer aula de campo.
11) Sempre dei preferncia para o ensino da gramtica normativa, pois os livros sempre
trazem em maior quantidade, tambm ela rege a poltica do bem dizer e bem escrever,
respeito esta questo das Variaes, porm no acho adequado seu uso no ensino da lngua
portuguesa.
12) No ocorre muito em nossa escola, quase todos nossos alunos so daqui da regio mesmo,
porm sempre pregamos a bandeira do respeito acima de tudo, mas mesmo na diferena temos
que cuidar a escrita, para no transcrevermos os erro da oralidade.
13) Sempre procuro comparar o uso da lngua com a moda das roupas, entram e saem da
moda novidades todo o tempo, mas os clssicos prevalecem. Na duvida de preferncia o uso
do culto para no correr o risco de errar.
55
14) mesmo com a lngua mudando, com a interferncia da internet, e de outros fatores
devemos priorizar a lngua culta, intervenho pois eles costumam passar os erros da oralidade
para a escrita.
15) Em breve terei o prazer de trabalhar com o uso de mdias em sala de aula e analisa os
ditos no siter da internet para sabermos diferenciar oral e escrito.
Nome: Sujeito 10.
Idade: 43Anos Sexo: F( X ) M ( )
Formao
1) Conclui em 2003 Letras Unemat .
2) Ps-Graduao.
3) No ano de 2005.
4) 23 anos.
5) Efetivo - Estado.
Ensino de Lngua Portuguesa:
6) ser referencia para comunicao e expresso, hoje os professores tenta, inovar no ensino,
mas s mudam a roupagem o contedo e o mesmo.
7) ser um observador; -verificar ate onde seu aluno sabe realmente; - no dizer isso no vou
ensinar pois no e culpa minha j veio com defeito la do primrio e estar atendo se voc
realmente esta conseguindo explicar e se fazer compreender por todos.
8) Os dois como sempre foi. Penso que o que diferencia que antes a construo do texto
partia da juno de palavras, frases, oraes, perodos... Sabendo o significado do passo a
passo, hoje j entregam textos prontos sem dominar a gramtica e normalmente sem ter um
retorno dos professore. Penso que devia voltar a focar o ensino da gramtica, para melhorar o
ensino, ficou mais fcil trabalhar como se faz hoje mais tambm menos eficaz.
56
9) Um pouco de tudo, pois temos clientela diferenciada e precisamos ir nos adaptando, temos
poucos recursos tecnolgicos, as vezes visitamos a sala de informtica, mas recorro a meus
mtodos mais tradicionais.
10) Utilizo mais o livro didtico e as vezes um texto como complemento.
11) De maneira clara e objetiva, no exemplifico de acordo com modelinhos propostos. Na
lngua portuguesa como em qualquer outra disciplina as coisas, que se ensinam devem fazer
sentido para os educandos, caso contrario na ser memorizado, no desrespeitando o que
pede as regras claro.
12) Isso no ocorre muito em nossa escola, trabalhamos o respeito acima de tudo, mas caso
ocorra optamos por explicar que e normal ser diferente e que imaginem como seria o mundo
se todos fossem iguais.
13) Digo que quanto mais tentam simplificar, mas complicam, h sempre a necessidade de
mostrarmos, quando importante saber a lngua padro, o resto conversa. A gramtica
sempre ser o modelo que deve ser ensinado.
14) Cada caso um caso, devemos mostrar que la fora uma selva e que eles tem que estar
preparados e quem domina a norma padro esta mais preparado.
15) Uso minha experincia, humor e seriedade.
Nome: Sujeito 11.
Idade: 37Anos Sexo: F( X ) M ( )
Formao
1) Conclui em 2000 Letras Unemat .
2) Ps-Graduao.
3) No ano de 2010.
4) 5 anos.
5) CLT - Particular.
57
Ensino de Lngua Portuguesa:
6) Para ensinar a norma culta da lngua e aprender suas funes.
7) mediador, para fazer o aluno refletir e analisar sobre o uso da lngua Portuguesa sobre
diversos gneros textuais.
8) O texto pois sempre trabalho a Gramtica Aplicada.
9) Seminrios, aulas expositivas, jri simulado, roda de conversa, atividade em grupo,
avaliao escrita e oral..
10) Sim, pois os recursos tecnolgicos, fazem com que os alunos aprendam melhor o
contedo. Uso sala de TV, sala de informtica e mesmo os celulares e Tablets que os alunos
tem e usam no cotidiano.
11) Os alunos precisam ter o conceito de gramtica e variao. Trabalho o livro do Marcos
Bagno: Preconceito Lingustico. Mas no abro mo da norma culta. Eles tem que conhecer as
duas coisas.
12) Eu trabalho muito as diferenas e o respeito, ento cada ano fica mais tranquilo, esta
questo.
13) Trabalho com leitura e reflexo da escrita, assim o aluno pensa quando vai escrever, se
escreve errado, peo para ler reler a palavra e perceber onde ocorreu o erro. Este erro na
escrita que tem que manter as regras gramaticais e a coeso.
14) No corrijo a fala, para no ficarem engessados , mas quando produzem ai eu interfiro
diretamente, evitando que os vcios da falam estejam presentes na escrita.
15) Tenho sim, trago varias literaturas, revistas como Super Interessante; Mundo Estranho, e
tambm gibis, contos clssicos, textos instrucionais entre outros, instrumentos que possam
melhorar e incentivar o habito da leitura.
Nome: Sujeito 12.
Idade: no declarou Sexo: F( X ) M ( )
Formao
1) Conclui em 2007 Letras Unemat .
58
2) Ps-Graduao.
3) No ano de 2009.
4) 8 anos.
5) Contratada - Estado.
Ensino de Lngua Portuguesa:
6) Desenvolver a competncia comunicativa, gramatical e textual, levando em considerao
uma forma de ensino que cada educador acredite seja produtivo para atender seus objetivos.
7) O professor tem que ter uma postura ativa como mediador no processo de aprendizagem.
8) Ao dois, pois, um depende do outro para um bom trabalho.
9)Diversos mtodos, expositivo, seminrios, vdeos, filmes etc.
10) Sim, uso recursos tecnolgicos, diversos fazem a aula ficar diferenciada, divertida e
atraente.
11) A gramtica tem que ser trabalhada e cobrada, pois os alunos precisam ter o contato
coma regra. As variaes eles j veem no dia-a-dia.
12) preciso mostrar o valor que tem uma cultura, a beleza de cada identidade. No admito
falta de respeito como prximo.
13) Erro o que foge as regras do bom portugus, o portugus que eles utilizaro em
trabalhos escolares e para o resto da vida, falar errado com grias essas coisas ele j fazem, na
escola temos e que exigir o velho e bom portugus culto. Acerto quando ele consegue expor
de forma clara seus objetivos sem cometer erros ortogrficos e de concordncia por exemplo.
14) Intervenho quando necessrio, no podemos tolerar abusos mesmo que na oralidade,
escola e lugar de aprender certo, exigir o certo seno passam a escrever errado como falam.
15) No tenho projeto s estimulo o habito a leitura, exploro bem os textos que o livro
didtico traz e quando preciso trago textos de fora para complementar.
Você também pode gostar
- Gramática da Teoria à Prática na Sala de Aula: um guia para concursos públicos, vestibulares e ENEMNo EverandGramática da Teoria à Prática na Sala de Aula: um guia para concursos públicos, vestibulares e ENEMNota: 1 de 5 estrelas1/5 (2)
- Glossário de Ciências em Libras: Uma Proposta Pedagógica Bilíngue para Alunos SurdosNo EverandGlossário de Ciências em Libras: Uma Proposta Pedagógica Bilíngue para Alunos SurdosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Linguística Gramática e Aprendizagem AtivaDocumento105 páginasLinguística Gramática e Aprendizagem AtivaWesley MatosAinda não há avaliações
- Meu Aluno Escreve como Fala, e Agora? Uma Intervenção Bem-Sucedida no Ensino Fundamental IiNo EverandMeu Aluno Escreve como Fala, e Agora? Uma Intervenção Bem-Sucedida no Ensino Fundamental IiNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Libras Parte IDocumento26 páginasLibras Parte IMichelle LanaAinda não há avaliações
- Fundamentos Da L PortuguesaDocumento124 páginasFundamentos Da L PortuguesaIan Fernandes100% (2)
- Português InstrumentalDocumento104 páginasPortuguês InstrumentalGutenbergAinda não há avaliações
- Professor Polivalente: Profissionalidade Docente em AnáliseNo EverandProfessor Polivalente: Profissionalidade Docente em AnáliseAinda não há avaliações
- A pedagogia da variação linguística na escola: experiências bem sucedidasNo EverandA pedagogia da variação linguística na escola: experiências bem sucedidasAinda não há avaliações
- Os (Inter)Discursos na Formação Docente em LetrasNo EverandOs (Inter)Discursos na Formação Docente em LetrasAinda não há avaliações
- LIVRO BAGNO e BRITTO Práticas de Ensino Leitura Escrita e DiscursoDocumento13 páginasLIVRO BAGNO e BRITTO Práticas de Ensino Leitura Escrita e DiscursoLis Barbosa100% (2)
- Ensino Da Ortografia No Ensino FundamentalDocumento14 páginasEnsino Da Ortografia No Ensino Fundamentalarley santana100% (1)
- Saberes Docentes: implicações na formação docente: saberes docentes pressupostos em um livro didático e em um manual do professor de língua espanholaNo EverandSaberes Docentes: implicações na formação docente: saberes docentes pressupostos em um livro didático e em um manual do professor de língua espanholaAinda não há avaliações
- 1 Letramento em Libras Vol 1 PDFDocumento364 páginas1 Letramento em Libras Vol 1 PDFNatália Gomes FerreiraAinda não há avaliações
- EDUCAÇÃO EM FOCO:: Formação e processos educativosNo EverandEDUCAÇÃO EM FOCO:: Formação e processos educativosAinda não há avaliações
- 15 - Variação Linguística e EnsinoDocumento57 páginas15 - Variação Linguística e EnsinoVinícius Adriano de FreitasAinda não há avaliações
- O Ensino de Português Do Brasil - Souza e Silva - 2020Documento205 páginasO Ensino de Português Do Brasil - Souza e Silva - 2020Antonia Agrella100% (2)
- Prova de Memoria de Trabalho Fonologica (1) - Passei DiretoDocumento3 páginasProva de Memoria de Trabalho Fonologica (1) - Passei DiretoAlexsandraRibeiroAinda não há avaliações
- Os Métodos de Ensino de Linguas (Seminário)Documento9 páginasOs Métodos de Ensino de Linguas (Seminário)Zefanias BilaAinda não há avaliações
- Ensinodelnguaportuguesaparasurdos Caminhosparaaprticapedaggicavol2 091101091837 Phpapp02Documento201 páginasEnsinodelnguaportuguesaparasurdos Caminhosparaaprticapedaggicavol2 091101091837 Phpapp02Jordana PereiraAinda não há avaliações
- Linguagem e educação – Fios que se entrecruzam na escolaNo EverandLinguagem e educação – Fios que se entrecruzam na escolaNota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)
- Apostila de Libras Módulo I - 2017Documento55 páginasApostila de Libras Módulo I - 2017Cintia OliveiraAinda não há avaliações
- Recursos OrtográficosDocumento9 páginasRecursos OrtográficosSandraPinaAinda não há avaliações
- Sociolinguística VariacionistaDocumento22 páginasSociolinguística VariacionistaLucas BatistaAinda não há avaliações
- Projeto Soletrando 2022Documento3 páginasProjeto Soletrando 2022AngelaAinda não há avaliações
- O hipergênero quadrinhos nas provas de língua portuguesa do ENEM: perspectivas de letramento críticoNo EverandO hipergênero quadrinhos nas provas de língua portuguesa do ENEM: perspectivas de letramento críticoAinda não há avaliações
- Avaliação NeuropsicolínguisticaDocumento19 páginasAvaliação NeuropsicolínguisticaThiago Primo CantisanoAinda não há avaliações
- PDF - Roberto Sandro de Melo SantosDocumento29 páginasPDF - Roberto Sandro de Melo SantosKaren BelarminoAinda não há avaliações
- QSPQXGJPXONIDocumento111 páginasQSPQXGJPXONIFrancisco Nhalungo Jr.Ainda não há avaliações
- Futuro PerifrásticoDocumento103 páginasFuturo PerifrásticoAngélica Lemos0% (1)
- As Quatro Habilidades Comunicativas: Uma Abordagem Aplicada Ao Entendimento Do Processo de Desenvolvimento Da Língua Portuguesa MaternaDocumento43 páginasAs Quatro Habilidades Comunicativas: Uma Abordagem Aplicada Ao Entendimento Do Processo de Desenvolvimento Da Língua Portuguesa MaternaJamerson J MartinsAinda não há avaliações
- NOVOS LETRAMENTOS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA - Claudemira - Luiz FernandoDocumento107 páginasNOVOS LETRAMENTOS NO ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA - Claudemira - Luiz FernandoMaria SilvaAinda não há avaliações
- TCC Alene PDFDocumento41 páginasTCC Alene PDFElayne PinheiroAinda não há avaliações
- Dissertação Ayla Lizandra - PPGMELDocumento138 páginasDissertação Ayla Lizandra - PPGMELBenita Alves de MeloAinda não há avaliações
- DIVERSIDADE LINGUÍSTICA E PRECONCEITO NO CONTEXTO ESCOLAR: Reflexão A Partir Da Visão de Alunos e ProfessoresDocumento65 páginasDIVERSIDADE LINGUÍSTICA E PRECONCEITO NO CONTEXTO ESCOLAR: Reflexão A Partir Da Visão de Alunos e ProfessoresFranciellen FranceseAinda não há avaliações
- PDF - Elany Pereira Da SilvaDocumento18 páginasPDF - Elany Pereira Da SilvaGabrielle SilvaAinda não há avaliações
- Preconceito Lingüístico - Isabel Cristina Perez DuarteDocumento56 páginasPreconceito Lingüístico - Isabel Cristina Perez DuarteXico de PaulaAinda não há avaliações
- TCC Pronto PDFDocumento24 páginasTCC Pronto PDFjailmauernAinda não há avaliações
- Dissertação Morfologia Teoria e EnsinoDocumento82 páginasDissertação Morfologia Teoria e EnsinoGabriel AdamsAinda não há avaliações
- TCC - Dayane Ferreira MartinsDocumento26 páginasTCC - Dayane Ferreira MartinsLARA FERNANDES MARIANOAinda não há avaliações
- Problematização Do Ensino de Leitura e Gramática Nas EscolasDocumento5 páginasProblematização Do Ensino de Leitura e Gramática Nas EscolasAline ResendeAinda não há avaliações
- Relato de Experiência - Análise de Processos Fonológicos Observados Na EM Vista Alegre, em Terra Nova Do Norte/MTDocumento11 páginasRelato de Experiência - Análise de Processos Fonológicos Observados Na EM Vista Alegre, em Terra Nova Do Norte/MTSidnei Alves da RochaAinda não há avaliações
- PHILIPPSEN, Neusa Inês LIMA, José Leonildo. Diversidade e Variação Linguística em Mato GrossoDocumento228 páginasPHILIPPSEN, Neusa Inês LIMA, José Leonildo. Diversidade e Variação Linguística em Mato GrossoAndressa Fabrina KlauckAinda não há avaliações
- 2014 Unicentro Lem Artigo Rodrigo PereiraDocumento18 páginas2014 Unicentro Lem Artigo Rodrigo PereiraOtica Formula dos olhosAinda não há avaliações
- Doutoramento-Linguística-Ana Paula Gonçalves Neves Rodrigues-A Língua Portuguesa No 1º Ciclo Do Ensino Básico PDFDocumento174 páginasDoutoramento-Linguística-Ana Paula Gonçalves Neves Rodrigues-A Língua Portuguesa No 1º Ciclo Do Ensino Básico PDFAníbal ToiAinda não há avaliações
- PDF - Marcela Ramos Da SilvaDocumento42 páginasPDF - Marcela Ramos Da SilvaAndressa KintofAinda não há avaliações
- Estudo de CasoDocumento58 páginasEstudo de CasoCamila BiatoAinda não há avaliações
- História da Disciplina Escolar Língua Portuguesa em Mato Grosso do Sul (1977-2008)No EverandHistória da Disciplina Escolar Língua Portuguesa em Mato Grosso do Sul (1977-2008)Ainda não há avaliações
- Projeto de Estágio Supervisionado em Língua PortuguesaDocumento22 páginasProjeto de Estágio Supervisionado em Língua PortuguesaDayana TelesAinda não há avaliações
- GUIMARÃES, Luíza (2018) Marcadores Discursivos em Aula de InglêsDocumento192 páginasGUIMARÃES, Luíza (2018) Marcadores Discursivos em Aula de Inglêsgabrielnsantana1500Ainda não há avaliações
- TCC Sobre SurdosDocumento51 páginasTCC Sobre SurdosHaekAinda não há avaliações
- OCEM Conhecimentos de EspanholDocumento40 páginasOCEM Conhecimentos de EspanholAntonio AndradeAinda não há avaliações
- Narrativas de Aprendizagem de Língua Inglesa: Crenças Desveladas No Discurso de DocentesDocumento23 páginasNarrativas de Aprendizagem de Língua Inglesa: Crenças Desveladas No Discurso de DocentesAndré CamarãoAinda não há avaliações
- Tipologia de ErroDocumento246 páginasTipologia de ErromarisabarretoAinda não há avaliações
- Artigo Nayanae FinalDocumento14 páginasArtigo Nayanae FinalFrancisca Keila Silva de FreitasAinda não há avaliações
- Ferramentas da Semântica Linguística de Oswald Ducrot: fatores significativos a se considerar para a seleção de livros didáticos de língua portuguesaNo EverandFerramentas da Semântica Linguística de Oswald Ducrot: fatores significativos a se considerar para a seleção de livros didáticos de língua portuguesaAinda não há avaliações
- Um Estudos Sobre As Práticas de Linguagens de Umbandistas Parintinense - Seara Do Caboclo Pena Verde de Mãe SofiaDocumento64 páginasUm Estudos Sobre As Práticas de Linguagens de Umbandistas Parintinense - Seara Do Caboclo Pena Verde de Mãe Sofiaacds.dan19Ainda não há avaliações
- Ra PoesiaDocumento85 páginasRa PoesiaLaricssiaAinda não há avaliações
- Variação Linguística No Contexto Escolar Desafios Do Professor No Ensino de GramáticaDocumento15 páginasVariação Linguística No Contexto Escolar Desafios Do Professor No Ensino de GramáticaFlávio Passos SantanaAinda não há avaliações
- PP Oralidade Confronto Entre Os PCN e A Concepção Dos Professores Da Escola Pública Um Estudo de Caso. GAMA Tânia Dantas.1Documento144 páginasPP Oralidade Confronto Entre Os PCN e A Concepção Dos Professores Da Escola Pública Um Estudo de Caso. GAMA Tânia Dantas.1Zëky NhächëngöAinda não há avaliações
- Alfabetização GiseleDocumento127 páginasAlfabetização GiseleMariana StabileAinda não há avaliações
- A Expressão Oral No Ensino-Aprendizagem Do Português e Do Espanhol (LE) : Uma Análise ComparativaDocumento217 páginasA Expressão Oral No Ensino-Aprendizagem Do Português e Do Espanhol (LE) : Uma Análise ComparativaMariana PereiraAinda não há avaliações
- Monografia Aline Lima RevisadaDocumento52 páginasMonografia Aline Lima RevisadaAline LimaAinda não há avaliações
- MONOGRAFIADocumento32 páginasMONOGRAFIALuzia SilvaAinda não há avaliações
- Resumo Expandido Cinped Com IdentificaçãoDocumento6 páginasResumo Expandido Cinped Com IdentificaçãoOdete Josefa da ConceiçãoAinda não há avaliações
- 2017 EmanuelleChristineSantosdaSilva TCCDocumento90 páginas2017 EmanuelleChristineSantosdaSilva TCCBalbina Lúcia EliasAinda não há avaliações
- Aspectos Do Fenômeno Crase - Perspectivas Histórica, Gramatical e Uso No PortuguêsDocumento97 páginasAspectos Do Fenômeno Crase - Perspectivas Histórica, Gramatical e Uso No PortuguêsRafael CostaAinda não há avaliações
- A Educação e A Escola Brasileira: Dialogando Com Freire e GramsciDocumento12 páginasA Educação e A Escola Brasileira: Dialogando Com Freire e GramsciElizandra HoffmannAinda não há avaliações
- Função Social Da EscolaDocumento55 páginasFunção Social Da EscolaCarlos NascimentoAinda não há avaliações
- BilinguismoDocumento11 páginasBilinguismoFabiano Santos SaitoAinda não há avaliações
- Língua, Escola e Fronteira: Entre Aprender A e Aprender Sobre Língua NacionalDocumento79 páginasLíngua, Escola e Fronteira: Entre Aprender A e Aprender Sobre Língua NacionalElizandra HoffmannAinda não há avaliações
- A Sociolinguística e A Questão Da VariaçãoDocumento18 páginasA Sociolinguística e A Questão Da VariaçãoElizandra HoffmannAinda não há avaliações
- As Políticas LinguísticasDocumento5 páginasAs Políticas LinguísticasRafael SadyAinda não há avaliações
- As Políticas LinguísticasDocumento5 páginasAs Políticas LinguísticasRafael SadyAinda não há avaliações
- Cabo Verde: Da Diglossia À Construção Do BilinguismoDocumento11 páginasCabo Verde: Da Diglossia À Construção Do BilinguismoElizandra HoffmannAinda não há avaliações
- Norma Culta Brasileira - Desatando Alguns NósDocumento101 páginasNorma Culta Brasileira - Desatando Alguns NósElizandra Hoffmann100% (1)
- Portunhol: Língua, História e PolíticaDocumento22 páginasPortunhol: Língua, História e PolíticaElizandra HoffmannAinda não há avaliações
- LivroLinguagemSociedadePoliticas PDFDocumento231 páginasLivroLinguagemSociedadePoliticas PDFHugueth Transformação CassimirAinda não há avaliações
- Línguas Brasileiras para o Conhecimento Das Línguas IndigenasDocumento70 páginasLínguas Brasileiras para o Conhecimento Das Línguas IndigenasElizandra HoffmannAinda não há avaliações
- Lições de Linguística GeralDocumento141 páginasLições de Linguística GeralElizandra HoffmannAinda não há avaliações
- Atividade Formação de PalavrasDocumento3 páginasAtividade Formação de PalavrasRita MunizAinda não há avaliações
- A Pronúncia Do Português EuropeuDocumento1 páginaA Pronúncia Do Português EuropeuNúria ChavesAinda não há avaliações
- 6º Ano 3.ºP E@Documento14 páginas6º Ano 3.ºP E@Joana GuimarãesAinda não há avaliações
- L Ngua PortuguesaDocumento30 páginasL Ngua PortuguesalipinhogameseartesAinda não há avaliações
- Item 2.5.1 - Certificado Publicação Capítulo de Livro No Campo Discursivo - José Antonio R LucianoDocumento4 páginasItem 2.5.1 - Certificado Publicação Capítulo de Livro No Campo Discursivo - José Antonio R LucianoToninho RodriguesAinda não há avaliações
- Classes GramaticaisDocumento20 páginasClasses GramaticaisIsabel mendonçaAinda não há avaliações
- Morfologia PDFDocumento54 páginasMorfologia PDFThalia LoianyAinda não há avaliações
- BNCC Vozes Discurso Direto Indireto e LivreDocumento2 páginasBNCC Vozes Discurso Direto Indireto e LivreLage LetíciaAinda não há avaliações
- A LinguagemDocumento9 páginasA LinguagemHgani87Ainda não há avaliações
- Alexandra Rodrigues 2002 Mecanismo de Formação Dos Derivados RegressivosDocumento12 páginasAlexandra Rodrigues 2002 Mecanismo de Formação Dos Derivados RegressivosSergio De Moura MenuzziAinda não há avaliações
- Hebraico Fácil - Artigo DefinidoDocumento6 páginasHebraico Fácil - Artigo DefinidoDANIELAinda não há avaliações
- Exercícios de Revisão (Saussure e Enunciação)Documento2 páginasExercícios de Revisão (Saussure e Enunciação)Lucas Macedo60% (5)
- Eear Português - Revisão IDocumento10 páginasEear Português - Revisão IDarci JuniorAinda não há avaliações
- A Gramática UniversalDocumento14 páginasA Gramática UniversalAna Paula DerungsAinda não há avaliações
- Para Início de ConversaDocumento7 páginasPara Início de ConversaAugusto DuAinda não há avaliações
- EF2 7ano V4 PFDocumento211 páginasEF2 7ano V4 PFAtilio MatosAinda não há avaliações
- Texto Sobre SaberesDocumento238 páginasTexto Sobre SaberesSamuel NuñesAinda não há avaliações
- Geneide Gramatica 001Documento17 páginasGeneide Gramatica 001Matemática sem drama com Prof. Diego SousaAinda não há avaliações
- Planejamento de Aula 20Documento6 páginasPlanejamento de Aula 20Cybelle De Moraes JuremaAinda não há avaliações
- Inglês Instrumental - Bach Agronomia - Ariane Fortes 2019Documento5 páginasInglês Instrumental - Bach Agronomia - Ariane Fortes 2019Ariane Maria FortesAinda não há avaliações
- UntitledDocumento3 páginasUntitledrusher hackerAinda não há avaliações