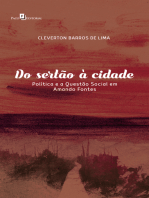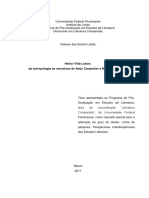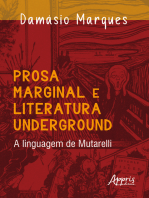Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Homem É o Bobo Do Homem PDF
O Homem É o Bobo Do Homem PDF
Enviado por
RafaelTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Homem É o Bobo Do Homem PDF
O Homem É o Bobo Do Homem PDF
Enviado por
RafaelDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Henrique Rodrigues Pinto
O HOMEM O BOBO DO HOMEM
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Diacronia do humor na poesia brasileira
Tese de Doutorado
Tese apresentada ao programa de Psgraduao em Letras da PUC-Rio como
requisito parcial para obteno do ttulo de
Doutor em Letras.
Orientador: Gilberto Mendona Teles
Rio de Janeiro
Julho de 2014
HENRIQUE RODRIGUES PINTO
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
O HOMEM O BOBO DO HOMEM:
Diacronia do humor na poesia brasileira
Defesa de Tese apresentada como requisito
parcial para obteno do grau de Doutor pelo
Programa de Ps-Graduao em Literatura,
Cultura e Contemporaneidade do Departamento
de Letras do Centro de Teologia e Cincias
Humanas da PUC-Rio. Aprovada pela Comisso
Examinadora abaixo assinada.
Prof. Gilberto Mendona Teles
Orientador
Departamento de Letras PUC-Rio
Prof. Julio Cesar Vallado Diniz
Departamento de Letras PUC-Rio
Profa. Eneida Leal Cunha
Departamento de Letras PUC-Rio
Prof. Jos Fernandes
UFG
Profa. Lucia Oliveira Lima de Andrade Bettencourt
Profa. Denise Berruezo Portinari
Coordenadora Setorial do Centro de Teologia
e Cincias Humanas PUC-Rio
Rio de Janeiro, 17 de julho de 2014.
Todos os direitos reservados. proibida a reproduo total ou
parcial do trabalho sem autorizao da universidade, do autor e
do orientador.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Henrique Rodrigues Pinto
Bacharelou-se e licenciou-se em Letras (habilitao Portugus/
Literaturas) na Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro)
em 1999. Cursou Especializao em Jornalismo Cultural na
Faculdade de Comunicao da Uerj em 2001. Cursou Mestrado em
Letras na PUC-Rio em 2002. Publicou o livro de poemas A musa
diluda (Record, 2006), alm de outros 7 livros de literatura.
Colaborou regularmente com os jornais Tribuna da Imprensa,
Jornal do Brasil e O Globo. Foi superintendente pedaggico da
Secretaria de Estado de Educao do Rio de Janeiro. assessor
tcnico em literatura do SESC (Servio Social do Comrcio),
responsvel por eventos de promoo da leitura e incentivo
expresso literria.
Ficha Catalogrfica
Pinto, Henrique Rodrigues
O homem o bobo do homem: diacronia do humor na poesia
brasileira / Henrique Rodrigues Pinto ; orientador: Gilberto
Mendona Teles. 2014.
185 f. : il. (color.) ; 30 cm
Tese (doutorado)Pontifcia Universidade Catlica do Rio de
Janeiro, Departamento de Letras, 2014.
Inclui bibliografia
1. Letras Teses. 2. Humor. 3. Poesia. 4. Riso. 5. Emlio de
Menezes. 6. Oswald de Andrade. 7. Modernismo. 8. Baro de
Itarar. 9. Millr Fernandes. I. Teles, Gilberto Mendona. II.
Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro. Departamento
de Letras. III. Ttulo.
CDD: 800
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Para a minha me, que a vida inteira me
disse, entre o brincando e o srio:
estude para ser doutor
Para a Bianca, pelo apoio,
estmulo e tolerncia
Agradecimentos
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Ao meu orientador prof. Gilberto Mendona Teles, pela leitura sempre atenta, e cuja
bagagem literria e humana guiaram este trabalho.
PUC-Rio, pelos auxlios concedidos, sem os quais este trabalho no poderia ter sido
realizado.
Ao professor Onsimo Almeida, da Brown University, pelas valiosas sugestes acerca
do meu objeto de estudo.
prof. Luiza Berthier, da Uerj, pelo estmulo minha produo literria e observao
acadmica do humor.
Aos meus amigos da Uerj: Clio Diniz, Bob Dutra e Marcelo Alves.
Aos professores que participaram da Comisso Examinadora.
A todos os professores e funcionrios do Departamento de Letras da PUC-Rio, pela
ajuda e pelos ensinamentos.
A todos os amigos e familiares que contriburam de alguma forma para a realizao
deste trabalho.
Ao Millr, pela sua obra e perspectiva de mundo.
Resumo
Pinto, Henrique Rodrigues; Teles, Gilberto Mendona. O homem o
bobo do homem: diacronia do humor na poesia brasileira. Rio de
Janeiro, 2014. 185 p. Tese de Doutorado. Departamento de Letras,
Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro.
Poesia e humor so duas possibilidades distintas de se deslocar as palavras
e produzir um efeito esttico. Historicamente, o recurso do riso esteve presente de
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
diversas formas nos modelos de criao potica. A sublimao potica, na
literatura brasileira, lanou mo da irreverncia em diferentes contextos sociais e
culturais, seja para um ataque mordaz a indivduos ou instituies, seja para se
construir um projeto de modernizao das letras, seja para estimular o
questionamento das verdades estabelecidas. Busca-se aqui investigar essas
possibilidades de dilogos entre poesia e humor em trs episdios diferentes da
literatura brasileira: na poesia satrica de Emlio de Menezes, cujos sonetos se
converteram em armas afiadas; na presena do humor como recurso presente no
Modernismo, especialmente na obra de autores como Oswald de Andrade e no
trabalho do Baro de Itarar; e na lucidez provocativa de Millr Fernandes, artista
que observou criticamente por meio do humor as transformaes sociais ocorridas
no sculo XX.
Palavras-chave
Humor; poesia; riso; Emlio de Menezes; Oswald de Andrade;
Modernismo; Baro de Itarar; Millr Fernandes.
Abstract
Pinto, Henrique Rodrigues; Teles, Gilberto Mendona. (Advisor) Man is
a jester to man: the diachrony of humor in Brazilian poetry. Rio de
Janeiro, 2014. 185 p. PhD Dissertation. Departamento de Letras,
Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro.
Poetry and humor are two distinctive methods by which words can be
manipulated in order to produce an aesthetic effect. Historically, the use of
laughter was present in various ways in models of poetic creation. The act of
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
poetic sublimation in Brazilian literature used irreverence in different social and
cultural contexts. Whether this sublimation was used for a scathing attack on
individuals or institutions or to modernize Brazilian literature, the act encouraged
the questioning of established truths. We seek to investigate these possibilities for
dialogue between poetry and humor into three different episodes of Brazilian
literature: the satirical poetry of Emilio de Menezes, whose sonnets were used as
sharp weapons; the presence of humor in Modernism, especially in the work of
authors such as Oswald de Andrade and Baro de Itarar; and the provocative
lucidity of Millr Fernandes, an artist who critically observed with humor the
social changes of the twentieth century.
Keywords
Humor; poetry; laughter; Emilio de Menezes; Oswald de Andrade;
Modernism; Baro de Itarar; Millr Fernandes.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Sumrio
1 ENTRE O RISO E O SISO
10
2 PO(I)TICA DO RISO
16
2.1 Do humor prosaico
16
2.2 Stira, humor, comdia & Cia.
19
2.3 Gnero humorstico?
25
2.4 Do riso ao humor
31
2.5 Humor e establishment
45
3 EMLIO DE MENEZES: CHUVA CIDA NA BELLE POQUE
62
3.1 O riso mal du sicle: um clice de spleen
62
3.2 Soneto: o fraque da poesia humorstica
73
3.3 Emlio o lobo do homem
91
4 BARO, OSWALD E GUIDAL: HUMODERNISMOS
4.1 Humodernidades
97
97
4.2 Vanguardas e retaguardas
108
4.3 Uma vanguarda bumerangue: Guilherme de Almeida
116
5 MILLR FERNANDES: POTICA LDICA E LCIDA
127
5.1 O Rio de Janeiro continua rindo
135
5.2 Millr: um tipo mvel
140
5.3 Millr Fernandes: lego-lngua
158
6 O HOMEM O BOBO DO HOMEM
173
7 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
180
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
O humor a quintessncia da seriedade.
Millr Fernandes
10
1
Entre o riso e o siso
fato inegvel que praticamente todas as pessoas apreciam textos
humorsticos, bem como textos poticos. O impulso pelo risvel quase uma
necessidade humana, compelindo-nos a transmitir para outrem a possibilidade de
se surpreender prazerosamente diante da linguagem e, por extenso, da prpria
vida. De forma similar, poderamos afirmar que existe uma necessidade potica
que tambm nos natural, considerando a sua etimologia1 e origem nos cantos
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
primitivos, precedendo at as manifestaes religiosas, conforme nos lembra
Segismundo Spina, ao afirmar que estas "forneceram o ambiente e o material
arte para sua constituio, no porm a sua origem, pois o sentimento esttico
preexiste a essas atividades; no homem natural e inato"2. O que une e diferencia,
portanto, humor e poesia?
preciso cercar bem o objeto do trabalho, pois todo tema, quando visto de
perto, tende a apresentar mltiplas facetas explorveis e uma diversidade de
caminhos possveis de investigao. Para chegar at esse objeto, precisamos antes
delinear os motivos pelos quais ele merece ser estudado.
O humor, apesar de estar to presente no nosso dia-a-dia, no ainda
estudado pela literatura na proporo da sua importncia. Como veremos, ele tem
um papel importante como forma de representao da realidade brasileira,
constituindo uma das formas mais usadas de questionamento das verdades prestabelecidas. A poesia, por outro lado, goza de prestgio e refinamento junto ao
meio literrio acadmico, ainda que no mercado contemporneo haja uma
explcita resistncia por parte das editoras a essa categoria por vender menos,
comparada ao romance - sem mencionar outros tipos que figuram nas listas de
do grego poesis - fazer ou criar alguma coisa. Cf MOISS, Massaud. Dicionrio de termos
literrios. p. 358.
2
SPINA, Segismundo. Na madrugada das formas poticas. P. 36.
11
mais vendidos, como autoajuda e biografias de celebridades miditicas. Livros de
humor, por outro lado, costumam ter boa receptividade.
Nosso material, portanto, lida com um jogo de paradoxos. A poesia, bemvinda na Academia e rejeitada pelo mercado; o humor, popular no mercado e raro
na Universidade. Nosso caminho se dar, portanto num jogo entre as vias
principais e as margens. Nessa trilha, cumpre-nos ento defender, de incio, o
humor como uma autntica manifestao literria, observando ainda suas relaes
com alguns conceitos tradicionais de gnero e outras modalidades textuais
congneres, tais como o cmico e o satrico.
Na nossa relao do humor com a poesia, caber fazer inicialmente uma
distino entre poetas que lanam mo dos recursos de humor na sua obra, como
o caso de lvares de Azevedo, e os humoristas cuja obra se manifesta na arte do
verso, como se percebe na obra de Emlio de Menezes. Essa separao
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
necessria, primeiramente, para distinguir nosso objeto de estudo, uma vez que
tanto poesia quanto humor podem se manifestar em diversos nveis e modalidades
na literatura. Alm desse recorte, e devido a ele, relevante para esse estudo situar
o humor como um tipo especfico de manifestao artstica, no apenas como um
recurso de estilo ou caracterstica opcional na voz literria de determinados
autores.
Embora o riso esteja h muito presente em diversas manifestaes
artsticas, como nas comdias clssicas e na poesia burlesca medieval, o humor
uma criao especial do homem moderno, na medida em que surgiu como
conceito durante uma poca especfica. Em finais do sculo XIX at meados do
sculo XX, poca em que nos deteremos especificamente para a anlise literria
de autores e obras, o humor e a poesia tiveram um casamento profcuo, ativo e
diversificado na nossa sociedade.
Serve como exemplo essa definio que Mendes Fradique, pseudnimo do
capixaba Jos Madeira de Freitas (1893-1944), escreveu no prefcio de Mortalhas
sobre a posio que Emilio de Menezes exercia naquele contexto como humorista:
Os que o conheceram de perto sorriem at hoje ao fino humour de sua pilhria,
vibram emoo de seus alexandrinos; tremem ao poder fulminante de sua stira;
choram a saudade de um companheiro afetuoso, que foi ao mesmo tempo o mais
cruel dos inimigos e o mais extremoso dos amigos.3
3
MENEZES, EMLIO de. Mortalhas. P. 11.
12
Esse depoimento, alm da homenagem pessoal a um amigo, encerra toda
uma estratgia de escrita, com recurso literrio da poesia e do efeito que causava
nos indivduos tratados pelos textos. Mas nos interessa, sobretudo, que est
apontado o fino humour de Menezes, um tipo bem especfico de riso e, em
termos histricos, recente.
Uma investigao preliminar sobre o fenmeno do humor necessria
como parte do entendimento das relaes sociais. As formas literrias derivadas
do riso dialogam constantemente com o seu contexto, esto imersas num caldo
cultural que rege o discurso e aponta para um objetivo claro do escritor. Por isso
que devemos, em cada anlise, levar em considerao o conjunto de convenes
histrias que as cerca. Da que tenhamos optado por uma perspectiva diacrnica
dessa relao entre humor e poesia.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Cabe lembrar que, na definio j clssica de Ferdinand de Saussure, os
fenmenos lingusticos funcionam sincronicamente, e evoluem diacronicamente4.
Segundo essa diviso, a sincronia constitui o eixo das simultaneidades, em que
devem ser estudadas as relaes entre os fatos existentes ao mesmo tempo num
determinado momento, seja no presente ou no passado. Desse modo, um poema
escrito para satirizar determinada conduta de uma figura pblica criado para
atacar ou provocar esse indivdio nesse tempo, ainda que se possa achar graa
futuramente nesse texto. Em outras palavras, a realizao do humor um
fenmeno do estado da lngua, portanto sincrnico em relao ao seu modo de
produo e inteno de leitura. Por outro lado, Saussure designa tambm o eixo
das sucessividades (ou diacronia), em que se tem por objeto de estudo a relao
entre um determinado fato e outros anteriores ou posteriores, que o precederam ou
lhe sucederam. E uma vez que iremos investigar trs perodos distintos dessa
relao, tratamo-la nesta tese como uma viso diacrnica, ainda que no se possa
dizer que o humor atravessa um estado de evoluo no sentido darwiniano. Se a
lngua evolui, pode-se dizer que as categorias de textos literrios oscilam
pendularmente, ora com mais, ora com menos relevncia social e esttica. Humor
e poesia, como veremos, so ferramentas utilizadas de formas diferentes em
tempos igualmente diversos.
4
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de lingustica geral. P. 96.
13
Aps a definio do humor como um problema a ser estudado pela
literatura, sero determinados os ambientes nos quais ele se manifesta. Em
seguida, partiremos para a compreenso da perspectiva humorstica como uma
possibilidade de entender a realidade de forma no-convencional.
Essa importante funo social pode ser notada em alguns estudos sobre o
assunto. Bergson afirma que o riso surge quando a sociedade se v imersa numa
rede de aparncias: Vivendo nela, vivendo por ela, no podemos abster-nos de
trat-la como um ser vivo. Risvel ser, portanto, uma imagem que nos sugira a
ideia de uma sociedade fantasiada e, por assim dizer, de uma mascarada social.5
O humorista tem a propriedade de perceber, com seu olhar aguado, como essas
mscaras se instauram na realidade social, dissolvendo-as. A exemplo, o alerta
despretensioso e ao mesmo tempo agudo de Quintana: "E chegar um tempo em
que os militares inventaro um projtil to perfeito, mas to perfeito mesmo, que
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
dar a volta ao mundo e os pegar por trs."6
Observaremos nesta tese as diferentes correntes de pensamento sobre o
fenmeno do humor. A obra de Menezes, pelas suas caractersticas intrnsecas de
utilizao do riso como uma arma de ataque a figuras pblicas, uma clara
evidncia da utilizao da teoria da superioridade; no Modernismo, a poesia
utilizou o humor em diferentes vertentes, especialmente como recurso de
construo baseado na pardia e, em determinados momentos como o
Surrealismo, na investigao de processos criativos ldicos inconscientes. J na
obra potica de Millr Fernandes encontramos uma abordagem da teoria da
incongruncia, buscando evidenciar o choque de ideias em diversos nveis
poltico, lingustico e social. Tratam-se, portanto, de recursos diferentes da
utilizao do humor.
Estabelecer uma relao entre esses dois campos poesia e humor requer
um olhar que abarque no s o carter risvel e humorstico presente em
determinados autores sejam eles predominantemente humoristas ou no , mas
tambm o quanto esse tipo de texto , em si mesmo, responsvel por grandes e
importantes mudanas na histria da literatura. Isso porque encontramos textos
humorsticos, satricos, irnicos, pardias, pastiches e outras formas que tm
5
6
BERGSON, Henri. O riso, p. 33.
QUINTANA, Mrio. Caderno H. P. 113.
14
inteno de provocar o riso como definidores de novas formas de se escrever. O
riso presente nas cem novelas reunidas no Decamero de Boccacio marcaram o
final da Idade Mdia na Europa. Posteriormente (sc. XVI), Franois Rabelais
traaria um retrato do incio do Renascimento, via caricatura, com os seus
Gargantua e Pantagruel. O Quixote de Cervantes, ao parodiar as novelas de
cavalaria no incio do sculo XVII, abriu as portas para o romance moderno. E se
pensarmos nas formas escritas em verso, vemos que os poemas heri-cmicos de
Torquarto Tasso, Matheus Boiardo e Ludovico Ariosto, no sculo XVI,
originaram a fico moderna. Passaremos, portanto, a examinar uma modalidade
de humor (aquele que se manifesta sob a forma de poesia, ou que estabelece
relao forte com ela) e de um perodo (fins do sculo XIX e nfase no XX).
A escolha do tema para esta tese se deu por uma necessidade potica, tanto
quanto humorstica. Explico: a leitura de obras como a de Millr Fernandes e
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Mrio Quintana foi de importncia fundamental na minha viso de mundo.
Permitiu-me realizar experincias literrias das mais diversas (teatro, romance,
crnica e poesia) a partir de um pressuposto simples: as palavras so facilmente
manipulveis, pois embora sejam palavras, no passam de palavras. Durante a
graduao em Letras na Uerj, publiquei certa vez um texto pretensamente
humorstico numa revista que escrevia com dois amigos. Conquanto no tivesse
muita qualidade, chamou a ateno dos colegas e de alguns professores. Continuei
escrevendo humor nos nmeros seguintes, e em outros peridicos que me davam
espao, tendo investigado o assunto no curso de especializao em Jornalismo
Cultural7 e, em seguida, no Mestrado8. Posteriormente, em livros voltados para
crianas, utilizei - e venho utilizando - humor e poesia na produo literria, o que
me gratificante.
Por que um tipo de texto inicialmente leve, buscando fazer graa, pode de
repente balanar determinadas convices? Por que to apreciado e to pouco
estudado? Que relaes possui com a seriedade e com o lrico/potico? Parte deste
ltimo questionamento me veio sob a forma decassilbica: o riso o irmo gmeo
PINTO, Henrique Rodrigues. gua nos anos de chumbo: o humorismo carioca em tempos de
represso poltica. Rio de Janeiro: Faculdade de Comunicao da Uerj: 2001.
8
Idem. Millr Fernandes: a vitria do humor diante do estabelecido. Rio de Janeiro: PUC-Rio,
2002.
15
da tristeza. O verso ficou por algumas semanas ecoando na minha mente at ser
encaixado num soneto, publicado em 2006 no livro A musa diluda:
O OUTRO
Meu barco em pleno mar parou um dia,
Num tempo de mar muito agitada.
E vi a sua proa iluminada,
Enquanto, l na popa, anoitecia.
Sentado eu bombordo, tambm via
Em duas minha imagem separada.
Havia na direita a gargalhada;
Do outro lado, s melancolia.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Daquilo ento ficou-me uma certeza:
O riso o irmo gmeo da tristeza,
Um lado que outro sempre complementa.
No mar, se o lado esquerdo sofre e falha,
Um outro toma o leme e ento gargalha,
Pois navegar sozinho nenhum tenta.9
Mas ficou uma certeza que determinou minha forma de observar a
realidade, uma relao dialtica entre os dois conceitos (riso e tristeza) que est
presente em todas as pessoas, em todos os ambientes. A compreenso humorstica
do mundo no deixa de ser tambm potica, pois atua como um constante jogo de
espelhos entre o que e o que poderia ser, alm de conferir ao artista a
propriedade de manipular a linguagem. Desse modo, o poeta e o humorista tm o
privilgio de desconstruir e reconstruir a realidade, oferecendo ao leitor
possibilidades inusitadas de perceber o mundo e a condio humana.
RODRIGUES, Henrique. A musa diluda. p. 64.
16
2
A PO(I)TICA DO RISO
2.1 Do humor prosaico
Prefaciando o livro de Jaguar tila, voc Brbaro, publicado em 1968, o
cronista Paulo Mendes Campos fez uma associao entre o humorista e o poeta.
Refere-se ao trabalho do autor prefaciado como restaurador e cristalino,
servindo de base para levantar sua tese. A rapidez de pensamento do humorista
levada em conta na sua anlise: a inteligncia de um grande humorista to gil
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
que se aproxima da velocidade de um reflexo10. Tal agilidade seria a diferena
entre a morosidade do pensamento, mostrada por ele como um ruminante, que d
a impresso de um constante e lento ato de raciocnio. Os humoristas seriam os
beija-flores, contraponto dos bois. E beija-flores seriam tambm todos aqueles que
tm a agilidade como propriedade fundamental para a execuo da sua arte11:
mgicos, cartunistas, jogadores de futebol, todos providos da capacidade de
superar a trilha de um pensamento regido por etapas lgicas, atingindo, num salto,
um ponto que para a mente morosa inesperado. Seria prprio do humorismo a
rapidez com que se combinam ideias remotas, resultando em efeito humorsticos
no essas prprias ideias, mas essa distncia que subitamente construda e
transpassada numa velocidade maior que o pensamento lgico consegue percorrer.
O cronista distingue (esta a sua tese) seis atitudes de pensamento com
relao ao humano: a cientfica, a convencional, a compassiva, a misantrpica, a
potica e a humorstica, sendo que essas duas ltimas seriam semelhantes
conquanto aparentemente dspares, medindo a primeira o carter lrico e a outra o
cmico do homem:
10
O prefcio de Paulo Mendes Campos tambm foi publicado no Caderno B do Jornal do Brasil,
em 11/07/2001, complementando o artigo Retrato de um autor desde jovem. Os trechos citados
se referem a esta fonte.
11
Considerando arte no seu sentido de profisso ou habilidade, como o que Alfredo Bosi j
definiu bem no livro Reflexes sobre a Arte: A arte um conjunto de atos pelos quais se muda a
forma, se trans-forma a matria oferecida pela natureza e pela cultura. p. 13. No caso do
humorismo essa trans-formao seria perceptvel na manipulao, ou melhor, na articulao
proposital de conceitos, ideias e palavras com objetivoa fim de se gerar um efeito risvel.
17
O potico e o humorstico (sobretudo o melhor humor grfico de nosso tempo)
assemelham-se pelas razes. Foi Chesterton quem observou (no me lembro das
palavras textuais) que ns nos sentimos vontade em um mundo enigmtico.
Esse me parece o ponto de partida para a aventura humanstica do poeta e do
humorista. O lirismo e a comicidade existem no mundo como os elementos: no
preciso invent-los, basta descobri-los.
Poeta e humorista so irmos siameses. O humorista um poeta inibido pelo
pudor; o poeta um humorista que no ousa rir o tempo todo. S os ntimos do
humorista sabem que ele um poeta; s os ntimos do poeta sabem que ele um
humorista. Os sujeitos mais pessoalmente engraados que conheo so poetas; os
sujeitos mais lricos, por sua vez, so humoristas.12
A comparao feita por Paulo Mendes Campos tem como apoio a sua
convivncia com escritores que muitas vezes se encaixam nesse perfil
ambivalente. Pela sua trajetria passaram autores como Fernando Sabino, Rubem
Braga, Ziraldo, Millr Fernandes, Carlos Drummond de Andrade, alm, bvio,
do prprio Jaguar. Assim, as duas caractersticas poderiam ser apreciadas e postas
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
lado a lado, ou mesmo fundindo-se. Humor escrito e/ou grfico e poesia
seriam da mesma famlia criativa, seriam at complementares, chegando ao ponto
de um ser o pressuposto do outro. Ao fim do prefcio, o cronista mineiro se refere
ao livro como de poemas grficos, e conclui: Quem no tem senso de humor
no pode ser um poeta; quem no tem sentido lrico no pode ser um Jaguar.13
Merece ateno a perspectiva na qual humor e poesia esto localizados no
mundo sob a forma de enigmas, lembrando os versos de Drummond: Penetra
surdamente no reino das palavras./ L esto os poemas que esperam ser escritos.
As palavras, congeladas em estado de dicionrio14, aguardando quem lhes
descubra as mil faces secretas sob essa face neutra, serviriam da mesma forma
para a escrita humorstica. Procura da poesia, segundo esse ponto de vista,
poderia ser tambm Procura do humor. No se inventa humor: descobre-se,
como afirmou Paulo Mendes Campos. E se tomarmos o verbo descobrir no
com sua acepo contempornea de encontrar ou inventar, mas na original,
com o sentido de tirar a cobertura, possvel notar que humor e poesia
funcionam como elementos de revelao, ou seja, de abertura para possibilidades
12
CAMPOS, Paulo Mendes. Poeta e humorista so siameses. Jornal do Brasil, Caderno B,
11/07/2001.p. 1.
13
Idem. Ibidem.
14
ANDRADE, Carlos Drummond de. Reunio, p. 77. O poema foi publicado pela primeira vez
em 1944, no Correio da manh, e no ano seguinte no livro A rosa do povo. Cumpre mencionar
que Gilberto Mendona Teles, no seu referencial Vanguarda europeia e Modernismo brasileiro,
inclui o poema Procura da poesia na lista dos manifestos literrios brasileiros.
18
de e n t e n d i m e n t o . Haveria algo escondido sob um vu das convenes
da linguagem. Esses sentidos ocultos, pela sua natureza mltipla, requerem um
esforo maior para ser percebidos. Esforo despendido pelo artista, que convida o
seu leitor para adotar um tipo de olhar desvelador. O efeito potico, tal como o
humorstico, tem esse esforo revelador e, como quase toda experincia esttica.
Trouxeste a chave?, pergunta a palavra ao poeta,
ainda
no
texto
de
Drummond. O humorista responderia que sim, pois, da mesma forma, possui um
olhar que descobre o ba semntico no qual as palavras esto calmas, quietas e
paralisadas. Contudo, h que se notar uma ou outra diferena: jamais se poderia
dizer no faas humor sobre acontecimentos, no faas humor com o corpo,
no dramatizes, no invoques. Nas regras do humor, do riso, da comdia, da
stira, o processo justamente o oposto. Mas aqui no cabe ainda entrar no modo
de criao literria calcando-se no objeto, e sim no sentido geral de como se
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
trabalha esse objeto, desvelando-o para gerar novas possibilidades. Poeta e
humorista teriam, portanto, a mesma grandeza como disparadores de sentido,
partindo da matria bruta, em estado de dicionrio, com as mil faces secretas
sobre a face neutra.
Iniciamos esta preleo com um texto fundamentalmente fora dos cnones
dos atuais estudos literrios: um prefcio escrito por um cronista e poeta para um
livro de desenhos de um humorista, retirado de uma republicao em jornal. um
mote tendencioso e provocativo justamente por se afastar da nobreza terica que
permeia grande parte dos trabalhos acadmicos. E provocativa tambm foi a
inteno de usar esse mesmo mote para situar na mesma instncia a poesia
(comumente entendida como a mais sofisticada manifestao literria15) e o
humor (apresentado como uma de suas formas baixas, como veremos). Pode-se
objetar, uma vez que, sendo Paulo Mendes Campos pertencente a uma gerao de
cronistas (esta, tambm, uma arte menor, muitas vezes a forma sob a qual o
humor se apresenta16), ele tenderia a defender os seus iguais. Porm esse autor
possui obra potica tambm reconhecida, o que o coloca, assim como Drummond,
15
Huizinga, no seu livro Homo ludens, concorda com essa posio: A poesia continua ainda hoje
sendo o modo de expresso mais natural para as coisas mais elevadas. p. 142.
16
A respeito dessa questo, Antonio Candido concorda, porm uma constatao que lhe vem
com certo alvio: "'Graas a Deus' - seria o caso de dizer, porque sendo assim ela fica perto de ns.
E para muitos pode servir de caminho no apenas para vida, que ela serve de perto, , mas para a
literatura..." in A crnica: o gnero, sua fixao e suas transformaes no Brasil. p. 13.
19
apto a discorrer e refletir sobre a sua prpria atividade. Alm disso, embora no
prefcio ele se apresente como um boi (o da mente morosa), possui na verdade a
vantagem da posio analtica, expressa ao discorrer sobre a sua tese, e a
dinmica, pela sua capacidade de percepo potica. O prefcio , logo, uma
abertura interessante e vlida para esta tese.
2.2 Humor, stira, comdia & cia.
Nossa inteno aqui abordar as intersees entre poesia e humor,
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
considerando a usina criativa comum entre essas artes "menores"17. Luigi
Pirandello exalta ainda a funo crtica exercida por essa categoria de escritor,
alm de ratificar a presena de poeta e humorista num s artista:
Todo verdadeiro humorista no apenas poeta, tambm crtico, mas cuidado um
crtico sui generis, um crtico fantstico: e digo fantstico no somente no sentido de
bizarro ou de caprichoso, mas tambm no sentido esttico da palavra, ainda que possa
parecer primeira vista uma contradio em termos. Mas realmente assim, e por isto
sempre falei de uma especial atividade da reflexo.18
Reconhecidos os primeiros traos de similaridade entre arte maior e
arte menor, cabe agora o desenvolvimento dessa valorao estabelecida pela
crtica literria. Com o termo mundo literrio, quero dizer que, assim como
ocorre em qualquer disciplina, nos estudos de literatura h uma srie de
preferncias, correntes e cnones que determinam paradigmas e legitimam obras,
estilos ou gneros. E o humor estaria, nesse mundo, numa posio que atualmente
17
Sobre o humor, veremos a seguir o seu peso hoje menor entre os estudos literrios; j a poesia,
na hierarquia contempornea brasileira, fica atrs do romance e do conto, bastando que se
observem os maiores prmios literrios oferecidos a autores consagrados, como o Portugal
Telecom e Prmio So Paulo de Literatura. Luciana Villas Boas, uma das maiores agentes literrias
brasileiras, deixou clara essa regra numa entrevista recente: Considero um equvoco comear
a carreira com livros de contos, ou poesia, ou crnica. Esses gneros no tm pblico e os
livreiros comeam a associar o nome do autor a fracasso de vendas. (Revista da Cultura, 2010) O
paradoxo consiste numa valorao extraoficial dessas mesmas categorias, sendo no raro
prosadores elevando a leitura potica na sua formao, especialmente no aprendizado fornecido
pelos versos para a construo do sentido meldico da escrita.
18
PIRANDELLO, Luigi. O humorismo, p. 140.
20
poderamos chamar de marginal. O terico russo Vladmir Propp reala essa
caracterstica nos textos que versam sobre os textos relacionados ao riso:
Na definio do cmico figuram exclusivamente conceitos negativos: o cmico
algo baixo, insignificante, infinitamente pequeno, material, (...) a oposio ao
sublime, ao elevado, ao ideal, ao espiritual etc etc. A escolha dos eptetos
negativos que envolvem o conceito de cmico, a oposio do cmico e do
sublime, do elevado, do belo, do ideal etc., expressa certa atitude negativa para
com o riso e para com o cmico em geral e at certo desprezo. Tal atitude
depreciativa manifesta-se muito claramente em filsofos idealistas como
Schopenhauer, Hegel, Vischer e outros.19
No seu Prefcio sua primeira pea de teatro, Cromwell (1827), Victor
Hugo refletiu sobre a modernidade do drama, num texto que ganhou autonomia de
leitura crtica chamado Do grotesco e do sublime. O prefcio tornou-se
referncia na poca, mudando os rumos da criao romntica. Para Hugo, o drama
consistia num tipo de evoluo natural para a expresso do seu tempo. A poesia
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
moderna deveria ser, sobretudo, dramtica:
Os tempos primitivos so lricos, os tempos antigos so picos e os tempos
modernos so dramticos. A ode canta a eternidades, a epopeia soleniza a
histria, o drama pinta a vida. O carter da primeira poesia a ingenuidade, o
carter da segunda a simplicidade, o carter da terceira, a verdade.20
Mas essa poesia dramtica deveria ser tambm uma conjuno de duas
foras antagnicas at ento. Uma caracterstica da formulao moderna a
mescla do grotesco e do sublime. Aps explicar que a diviso das peas da poca
se dava em duas partes nitidamente diferentes duas horas de texto e prazer
srio, intervalo de uma hora e uma ltima hora de galhofa, Hugo apresenta a
nova proposta mesclando comdia e tragdia: O que faria o drama romntico?
Trituraria e misturaria artisticamente juntas estas duas espcies de prazer. A cada
instante faria o auditrio passar da seriedade ao riso, das excitaes cmicas s
emoes
dilacerantes
[...]21
Instaura-se,
portanto,
possibilidade
de
entendimento comum dos opostos para a construo de uma nova forma de rir. O
riso romntico, como veremos a seguir, teria toda uma nova roupagem, abrindo
caminho para novas formas modernas, entre elas o humour.
19
PROPP, Vladmir. Comicidade e riso, p. 20.
HUGO, Victor. Do grotesco ao sublime. P. 40.
21
Id. Ibidem. P. 94.
20
21
Cabe mencionar que essa mesma distino de Hugo, considerando as
possibilidades de mistura dessas categorias, refletiu-se na obra seminal de Emil
Staiger, escrita quase um sculo depois. Seu clssico Conceitos fundamentais da
potica, em que a subdiviso de gneros literrios se tornou uma referncia para
a compreenso dos estudos de literatura at os nossos dias. A considerao de
gneros de Staiger, foi um pouco mais flexvel, ainda que delimitasse as
peculiaridades de cada gnero, ora comparando-os, ora assumindo que toda obra
possui pelo menos um trao dessas categorias, sendo que uma delas ser
predominante, assegurando assim o grupo ao qual pertence. Como exemplo, um
soneto pode conter elementos picos (como assunto), ao mesmo tempo estar
inserido num texto dramtico, recurso utilizado por Shakespeare, mas sua
estrutura de construo de 14 versos composto por dois quartetos e dois tercetos
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
no caso de um soneto italiano o situaria na categoria Lrica.
Verena Alberti afirma que, no campo das cincias humanas, o riso em
geral atribudo vida social ou linguagem. Dependendo de como ambos so
definidos, quando pressupem a ideia de um sistema, de uma ordem ou de uma
norma, o lugar do riso em geral o da desordem ou da transgresso22. Ou seja,
ele se posicionaria numa rea fundamentalmente contra o que estabelecem tanto
as regras sociais quanto as normas de linguagem.
Uma questo facilmente notada no que se refere crtica que,
informalmente, o humor seria uma autntica manifestao literria, relacionada,
inclusive, a camadas superiores da inteligncia, ao passo que quando se trata de
uma crtica mais sria e oficial, ele se enquadra em posies inferiores. Se o
tipo de humor estiver ligado a meios de comunicao de massa, o valor cai ainda
mais, relegado a uma camada associada idiotia e banalizao23. o que
pergunta Vnia Belli, em uma das poucas teses encontradas sobre o assunto na
rea de Literatura: Por que ser que o riso foi e ainda entendido como uma
manifestao de infantilidade, idiotice ou vulgaridade? Por outro lado, por que o
riso envolve uma certa sensao de superioridade?24. Talvez a primeira seja
22
ALBERTI, Verena. O riso e o risvel na histria do pensamento, p. 30.
O humor televisivo, por exemplo, com frequncia rejeitado, associado a termos como
nivelamento por baixo, riso passivo etc.
24
BELLI, Vnia. O prazer annimo: uma abordagem psicanaltica do riso na literatura, p. 8.
23
22
consequncia da segunda. A idiotice construda no por quem faz rir, mas por
essa seriedade incomodada. Uma das tentativas mais comuns para se anular o
poder do riso associ-lo infantilidade, falta de critrios, irreflexo,
relegando-o a uma posio de inferioridade.
Como veremos, o humor, bem como o riso em geral, faz parte da cultura
brasileira de uma forma bem peculiar. No entanto, no so muitos os estudos
realizados no campo literrio sobre o assunto. Se levarmos em conta o que afirma
Antnio Candido, segundo o qual a literatura retrata as marcas de um tempo,
assinalando as mudanas e manifestaes do corpo orgnico da sociedade25,
soaria como um paradoxo a presena esparsa de estudos sobre o humor na
literatura nacional. De certo modo, essa baixa frequncia pode derivar de alguns
vcios acadmicos, como lembra Muniz Sodr no prefcio do seu livro A
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
comunicao do grotesco, referindo-se ao tratamento dado ao que se denominava
cultura de massa nacional: Isto se deve, em parte, ao velho hbito de
transplante cultural por parte das elites intelectuais nativas e escassa tradio de
reflexo sobre a nossa sociedade.26 Creio que a importncia deste trabalho reside
justamente a: a tentativa de entender o humor e como se comporta a obra de um
humorista no meio social. Mas sem usar este tema como subterfgio para
tergiversaes tericas girando em torno de si mesmas. Pelo contrrio, as teorias
que devem se submeter ao assunto principal, servindo-lhe de suporte.
Vejamos como a comicidade e o humor se apresentam em algumas obras
que tratam dos objetos literrios e/ou estticos em geral27, em diferentes
momentos histricos, e ver se possvel ratificar a questo levantada acima.
J Aristteles, na Potica, definiu a tragdia superior por mostrar os
homens melhores do que eles so; a comdia, por outro lado, seria inferior por
25
Cf Candido, Antonio. A educao pela noite, p. 162. Embora, segundo esse mesmo autor, a
literatura se caracterize por uma autonomia com relao ao processo histrico. Isso permite que o
texto literrio desrespeite de maneira proposital os registros oficiais dos fatos, o que, no caso do
humorismo, funciona como um dos pressupostos bsicos para que haja a descoberta de que
tratamos anteriormente.
26
SODR, Muniz. A comunicao do grotesco, p. 5. A esse respeito cabe o exemplo da recente
pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, em que surpreendentemente se revelou os baixos nveis
de leitura na sociedade. Cf. http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/texto.asp?id=4095 (acessado
em 16/12/2013)
27
Considerando que o termo literatura, como o entendemos hoje, s comeou a ser usado a
partir do sculo XVIII. Dos antigos gregos at a, o termo tinha praticamente o mesmo sentido de
gramtica. Cf TAVARES, Hnio. Teoria Literria, p. 33.
23
mostr-los piores do que so na verdade. Se tomarmos a comdia como o
equivalente da literatura humorstica28, j seria perceptvel essa diferena. Mostrar
os homens piores do que eles so equivalia a apontar os defeitos prprios do
homem, certamente com o devido exagero j que o exagero os deixa mais
perceptveis , mas ainda assim caractersticas fundamentalmente humanas. J as
virtudes prprias das tragdias tinham como inteno atribuir ao homem
sentimentos e atitudes divinas. As desgraas e os infortnios pelos quais passavam
os personagens eram o preo pago pelo homem por essa transgresso (hybris) do
seu mtron (a medida de cada um), por tentar atingir uma camada acima dos seus
limites. Segundo Aristteles, foram as festas flicas que deram origem comdia.
Etimologicamente, o termo significa canto aldeo (comes: aldeia + ode: canto).
Durante as comemoraes dionisascas, alternavam-se os momentos de tristeza
com instantes de alegria desenfreada, nos quais o povo caa em verdadeira orgia,
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
espcie de bacanal em que o povo entoava cantos flicos, saindo em procisso
pelos campos levando frente o phallus, smbolo do rgo genital viril. Desse
modo, a materialidade, a carnalidade da comdia poderiam torna-la algo menor.
Quando Aristfanes, por exemplo, criticava os homens pblicos nas suas peas,
realizava uma obra de menor peso do que Sfocles, ao narrar, sua maneira, o
mito de dipo.
Para Maria Ins Gurjo, essa diferena se d porque na comdia h uma
tentativa de sair da norma, enquanto que a tragdia seria uma correo desse ato
transgressor, uma vez que o homem grego deveria ser, antes de mais nada, um
membro da plis. Segundo essa autora, a tragdia pune,
j a comdia individualiza, reala a capacidade de receber o real subjetivamente,
distorc-lo, expressando-o de uma forma original. Ao ridicularizar uma pessoa ou
situao, o autor est reforando a sua singularidade, mesmo quando a ironia tem
uma funo de punir o transgressor.29
O processo de individualizao causado pela comdia questionvel, j
que ela costuma se voltar para a generalizao. Da que as comdias tenham
nomes contendo uma caracterstica do personagem (O avarento, O doente
imaginrio, O anfitrio), ao passo que as tragdias muitas vezes tm como ttulos
28
No prximo subcaptulo estabeleceremos mais claramente as semelhanas e as diferenas entre
esses termos.
29
GURJO, Maria Ins. A tragdia brasileira narrada com muito bom humor, p. 33.
24
os nomes dos protagonistas (Antgona, dipo Rei, Hamlet). Vilma Aras lembra
que a comdia lida com tipos gerais e a tragdia, com indivduos que no podem
ser confundidos com outros.30
A comicidade como elemento de transgresso, como veremos adiante,
sofreria algumas mudanas. Na histria das sociedades, possvel notar que em
determinados momentos o riso passou a ser um elemento retificador, como no
caso dos bobos da corte. Umberto Eco, por exemplo, acredita que, contrariando o
axioma segundo o qual o trgico universal e o cmico particular, existe um
cmico universal, que surge espontaneamente, oriundo da necessidade de
transgresso das regras introjetadas na sociedade. Por hora, interessa essa funo
especfica encontrada na tragdia e na comdia, tornando aquela de valor superior
a esta. Nesse caso da valorao aristotlica, convm assinalar que a tragdia31
superior mais pela sua consequncia social a manuteno da posio do homem
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
como parte de um todo do que propriamente pela qualidade esttica das obras32.
Plato excluiria o poeta da sua Repblica por no ter uma atividade compatvel
com a filosofia, voltando-se antes para a aparncia das coisas do que para o
conhecimento delas. O riso da comdia seria um prazer falso, experimentado
pelos homens medocres e privados de razo, que alimenta os excessos em
detrimento do equilbrio sugerido pela verdade racional.
O cmico, portanto, no teria lugar na Repblica, pois seria de pouca
utilidade num meio onde predomina a seriedade filosfica. Como ele se situaria,
ento, nas subdivises de categorias literrias, cujos limites so cada vez mais
mesclados entre si e indistinguveis?
30
ARAS, Vilma. Iniciao comdia, p. 17.
Aristteles assume que a comdia mereceria um estudo parte. Porm a existncia dessa obra
ainda hipottica. Umberto Eco, em O nome da rosa, supe que o livro era temido pelos clrigos
medievais, devido ao poder libertador do riso, e por isso o mantinham (o livro e o riso) confinado.
Mas teria Aristteles realmente se dedicado a escrever uma obra de assunto to menor? Valeria a
pena despender esforo realizando um estudo de algo que ele mesmo j definira como destitudo
de grandeza? Consta que, poca em que a Potica era produzida, a comdia ainda estava em
desenvolvimento, enquanto que a tragdia e a epopia j haviam atingido as formas clssicas. Cf.
ALBERTI, Verena. Op. cit., pp. 45-46.
32
Uma das primeiras obras nas quais se encontram marcas de crtica literria , por sinal, uma
comdia. Na pea As rs, Aristfanes compara, jocosamente, os versos escritos por squilo e
Eurpedes.
31
25
2.3 - O gnero humorstico?
O conceito de gneros literrios, definido com mais metodologia a partir
do Romantismo, estabelece trs como principais: lrico, pico e dramtico. Emil
Staiger, no seu livro Conceitos fundamentais da potica, ressalta que a
predominncia de um desses aspectos em uma obra que determina a sua
denominao especfica. Um poema, por exemplo, pode conter elementos picos e
dramticos, mas o que o insere no gnero lrico a primazia dessas caractersticas.
Desse modo, o autor no os denomina como gneros, uma vez que os situaria de
forma imvel e fechada, mas sim como estilos, pelo critrio da predominncia de
um desses aspectos. No cabe aqui adentrar nessa trade dos gneros, mas apenas
no modo como o humor se insere dentro dessas classificaes. Staiger afirma,
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
num captulo parte, aps explanao detalhada dos trs estilos, que o carter
bsico existencial do humor um retorno a33, ou seja, a disposio, ou o humor,
manifesta-se poeticamente no estado lrico34. Tal ideia, sob esse aspecto, se
aproxima daquela tese de Paulo Mendes Campos, segundo a qual poeta e
humorista tm muito em comum. Mas o humor, com o sentido de disposio,
ainda bem caracterstico dos sculos XVII e XVIII, pois se relaciona com estado
de esprito, no ainda com o sentido de expresso literria, que viria a receber
mais adiante35. Staiger afirma, a partir da sua leitura de Ser e Tempo, de
Heidegger, que o estilo dramtico seria a manifestao potica na qual a tenso
torna possvel uma compreenso geral de um fato da existncia, visando ao tempo
futuro, enquanto que o pico seria responsvel pela apresentao, situada no
tempo presente. Restaria ao lrico a funo representativa da disposio, entre
passado e presente, na qual o humor estaria inserido.
Mais adiante, h uma outra definio, que apresenta ainda mais elementos
a esse esquema, porm envolvendo a questo do riso: Distinguimos trs espcies
de ridculo: a tirada espirituosa, a comicidade e o humor. fcil suspeitar que o
33
Para Staiger um dos principais aspectos do estilo lrico seria a recordao (no sentido original
de trazer de volta ao corao). Por isso, o lrico seria uma representao marcadamente de um
estado juvenil, ou de tentativa de retorno a ele. O termo usado passado-presente, ou seja, o agora
recordado.
34
STAIGER, Emil. Conceitos fundamentais da potica, p. 173.
35
No prximo subcaptulo as definies do termo humor sero detalhadamente explanadas.
26
humor seja o Ridculo-Lrico, a comicidade, o Ridculo-pico e a tirada
espirituosa, o Ridculo-Dramtico.36 Aqui ainda se mantm a relao do humor
com o estilo lrico, porm as duas ltimas equivalncias so um tanto quanto
arbitrrias. Se associarmos comicidade comdia, a relao bvia que esta tem
com o gnero dramtico se esvairia. E essa tirada espirituosa seria quase que
sinnimo de humor, j que se encontra associada ao termo disposio (de
esprito). Salvo se o termo tirada espirituosa for entendido como piada, anedota,
ou trocadilho, caso em que seria proferido num ambiente social, envolvendo uma
relao dialgica. Mesmo assim, seria ainda bastante semelhante ao que se
denomina veia cmica. Essas associaes so demasiadamente arbitrrias,
necessitando de uma interpretao muito ampla para atribuir-lhes sentido lgico.
A dificuldade em situar o humor em um dos gneros talvez se deva sua
prpria natureza esguia e escorregadia, tendendo a no se fixar numa categoria.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Goethe sugeriu que esses trs gneros pica, lrica e drama so formas
imutveis, a partir dos quais surgiriam os subgneros, atrelados s caractersticas
histricas mutveis. Desse modo, levando em conta que o humor muitas vezes
depende de um contexto scio-histrico para fazer sentido, podemos inseri-lo na
categoria de subgnero. Essa seria uma tentativa de adequao surgida de uma
realidade dinmica de que as conceituaes tradicionais de gnero j no
conseguem dar conta, como lembra Manuel Bandeira no seu livro Noes de
histria das literaturas: O conceito de gnero, na rigidez com que outrora
limitava o artista, ideia caduca. A evoluo das literaturas mostra que os gneros
nascem, morrem ou se transformam ao sabor das necessidades de expresso.37
O fato de Manuel Bandeira ser tambm um nome importante na poesia
brasileira nos faz atentar para um ponto importante na definio de gneros: a
viso de quem produz literatura. A necessidade de uma flexibilizao do objeto
literrio, em detrimento da rigidez com que outrora limitava o artista, serve
ainda para Bandeira afirmar que os gneros devem ser usados apenas na
classificao dos textos, tantos quantos os perodos histricos e meios de
comunicao exigirem. Seriam gneros, para Bandeira, tambm o filosfico, o
36
37
STAIGER, Emil. Op. Cit., p. 175.
BANDEIRA, Manuel. Noes de Histria das Literaturas, p. 13.
27
jornalstico, o ensastico, o folclrico, o oratrio, e inclusive o satrico, cuja
finalidade seria apontar vcios e defeitos, com inteno crtica.
Fica claro, nesses casos, que o humor no se enquadraria na categoria de
gnero. Se o fosse, ficaria no mbito de uma subcategoria. Pirandello afirma que o
humor no pode ser visto como um gnero, mas como uma caracterstica que pode
ou no fazer parte desses tipos de texto:
O humorismo no um gnero literrio, como o poema, a comdia, o romance,
a novela, e assim por diante: tanto verdade que cada um desses componentes
literrios pode ser ou no humorstico. O humorismo qualidade de expresso,
que no possvel negar apenas pelo fato de que toda expresso arte, e
enquanto arte no distinguvel da arte restante.38
Associando a conceituao de Pirandello de Bandeira, na qual haveria
um gnero satrico, pode-se afirmar que o humor mais um modo de expresso
literria do que um tipo de texto. Hnio Tavares sugere a existncia de um gnero
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
satrico ou humorstico. Tal como em Bandeira, esse gnero distinguvel pelo
contedo da obra, e se mistura a textos em prosa cita como exemplos romance,
conto, novela, anedota, comdia ou farsa e em verso pardia, epigrama, farsas
e comdias escritas em verso. O professor mineiro acrescenta ainda que esse
gnero se relaciona com marcas expressivas de cada povo, na medida em que o
humour ingls e o esprit francs so considerados intraduzveis e inassimilveis.
O fato de cada nao determinar o seu tipo de humor confirma que a relao se d
mais na manifestao viva da cultura do que em pressupostos rgidos.
No Dicionrio de comunicao, a definio de humor contm o termo
gnero. Porm, h uma distino entre o humor como apenas um aspecto de
uma obra literria ou como sua essncia, caso em que receberia a denominao de
gnero:
Humor gnero de criao intelectual que utiliza as mais diversas formas de arte
para se expressar. O humor pode ser a prpria essncia desta criao intelectual
ou pode ser uma de suas caractersticas. A obra de Carlos Drummond de
Andrade, p. ex., plena de humor: neste caso, ela a caracterstica de uma obra
literria. Na obra de Millr Fernandes, por outro lado, o humor a prpria
essncia, o gnero (e esta mesma obra pode ser citada tambm como exemplo do
38
PIRANDELLO, Luigi. Op. cit., p. 79. Embora, na mesma obra, o autor se refira a humorismo
como um gnero: Talvez no exista, ento, nenhum outro gnero (grifo meu) no qual haja, ou
deveria haver, a mais sutil diferena entre a forma prosaica e a potica, ainda que isso no seja
sempre lembrado pelos leitores, e nem mesmo pelos escritores. Op. cit., 21. Aqui o autor
provavelmente usaria o termo gnero em sentido lato.
28
uso de diversas formas de arte, por um autor, para criar seu humor: teatro,
literatura, pintura, desenho etc.).39
Nesse caso, o humor somente poderia ser encarado como um gnero
quando ele a essncia da obra, ou seja, predomina em toda a produo de
determinado autor, que poderia se valer no somente de outros gneros literrios,
mas tambm de outras formas de arte. Este outro fator que determinaria a
diferena entre caracterstica e essncia. O importante seria fazer o humor, no
importando em que frma. A ideia humorstica prescinde a escolha de um modelo,
que selecionado num segundo momento, devendo se adequar da melhor maneira
ideia humorstica. Sendo assim, a relao entre os pontos se daria primeiramente
numa necessidade de criar uma espcie de curva na conveno. No seu referencial
Anatomia da crtica, Northrop Frye situa ironia e stira numa categoria chamada
Mythos do inverno, a partir do ensaio em que separa os gneros em estaes na
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
chamada teoria dos mitos40:
O humor, como o ataque, funda-se na conveno. O mundo do humor um
mundo rigidamente estilizado, no qual no se permite que existam escoceses
generosos, esposas obedientes, sogras queridas e professoras com presena de
esprito. Todo humor exige que se concorde em que certas coisas, como o
desenho de uma mulher surrando o marido numa historieta cmica, so
convencionalmente divertidas. Introduzir uma historieta cmica na qual o marido
sova a mulher enfadaria o leitor, porque isso significaria a aprendizagem de uma
nova conveno. O humor de pura fantasia, o outro limite da stira, pertence
estria romanesca, embora seja desajeitado nesta, pois o humor percebe o
inconveniente, e as convenes da estria romanesca so idealizadas.41
Interessante notar como nesses exemplos o crtico estabelece os paradoxos
necessrios para a criao da imagem ou ideia humorstica, alm da tentativa de
categorizar essas variaes tanto pelos seus efeitos de leitura do que como causas
e intenes autorais. Esse bloco da ironia, stira e humor, est separado da
comdia, que est estrategicamente localizada no Mytho da primavera, uma vez
que parece ter um fim mais construtivo e moralizante, pois se encaminha para
um final feliz42, e se ela avana demais na acidez, pode se aproximar mais no
mito invernal: Quanto mais irnica a comdia, tanto mais absurda a sociedade, e
39
RABAA, Carlos Alberto & BARBOSA, Gustavo. Dicionrio de comunicao, p. 321.
So eles: O Mythos da Primavera: a Comdia, O Mythos do Vero: a Estria Romanesca, O
Mythos do Outono: a Tragdia, O Mythos do Inverno: a Ironia e a Stira.
41
FRYE, Northrop. Anatomia da crtica. P. 223.
42
Idem, ibidem, p. 167.
40
29
uma sociedade absurda pode ser condenada por uma personagem [...]43. Temos,
portanto, uma distino clara entre uma postura do humorista diante da construo
a que se pretende. Esse movimento requer colocar-se numa
perspectiva
distanciada para um ataque social, conforme aponta Frye, para quem a stira
constitui melhor recurso de transgresso direta. Para ele, dois elementos so
essenciais para a construo da stira: uma a graa ou humor baseado na
fantasia ou num senso de grotesco ou absurdo, a outra destina-se ao ataque. O
ataque sem humor, ou pura denncia, forma um dos limites da stira.44 O humor,
assim, surge como recurso mais rico esteticamente, no qual o artista deve
mergulhar no sentido daquele seu objeto de criao.
Deleuze, na sua Lgica do Sentido, afirma que o humor no est nem
acima nem abaixo, mas na superfcie, no vazio, no no-senso45, sendo que para
substituir as significaes por designaes, mostraes, consumaes e
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
destruies puras, preciso uma estranha inspirao, preciso saber descer o
humor (...).46 O saber descer significa entrar na linguagem de modo a voltar
tona, sem altura nem profundidade, seno como partes do processo de atingir
aquela superfcie.
interessante essa viso, segundo a qual o humor entendido num regime
de entrada na profundidade seguida pela volta a um ponto de neutralidade. O ato
de mergulhar na linguagem, segundo Deleuze, situa o humor na prpria
superfcie, num local onde as significaes se apresentam de forma nula. Para ele
o humor reside exatamente nesse lugar vazio. Em outra perspectiva de um autor
de textos e desenhos humorsticos, Ziraldo afirma que um movimento anlogo, de
descida e subida, necessrio para que o humor funcione como um meio de
esclarecimento de verdades ocultas:
O humor uma forma no linear de se descer ao fundo das coisas, de buscar e
entender sua essncia e revel-la de maneira no convencional. H mil maneiras
43
Idem, ibidem. P. 16.
Idem, ibidem, p. 220.
45
Para esse autor o no-senso no sentido caracterizado pela ocorrncia do paradoxo na relao
significante-significado: No h dvida de que estas sries so determinadas, uma como
significante e a outra como significada, mas a distribuio de sentido em uma e na outra
completamente independente da relao precisa de significao. Op. cit., p. 72. O sentido, para
Deleuze, tambm seria decorrente de um efeito de superfcie, de posio, surgido num lugar vazio.
Comparado ao fonema zero de Jakobson, o no-senso o que no tem sentido, mas tambm aquilo
que se ope ausncia de sentido.
46
DELEUZE, Gilles. Lgica do Sentido, p. 138.
44
30
de se descer ao fundo das coisas e revel-las de maneira no convencional. Mas
isto ser sempre uma descoberta.47
Talvez a superfcie esteja apenas na primeira camada de significao do
texto humorstico. Na verdade, o humor acaba destruindo essas mesmas
superfcies na medida em que traz uma outra verdade, afirmando que aquela
substituda tambm no passava de um objeto desmontvel, caso o alvo do humor
seja um falso equilbrio. Desmontar deve ser entendido tambm como
desconstruir. Mas o humor no desconstri a essncia das coisas, mas a sua
superfcie, o casco das convenes lingusticas e sociais. Cabe notar que h ao
mesmo tempo uma semelhana e uma diferena entre as duas vises acima
descritas. O que elas tm em comum a superfcie, o ponto na linguagem em que
o humor se realiza. Mas a diferena est no fato de que, para Deleuze, o humor se
realiza num processo de afastamento com relao s possibilidades de
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
significao. A superfcie deleuziana seria a instncia do esquecimento, ou seja,
da quebra das amarras com as camadas. No caso do que afirma Ziraldo, a ideia de
humor pressupe uma revelao da essncia das coisas, mas tomando a superfcie
como um lugar onde as convenes da linguagem esto localizadas e, por isso
mesmo, serviro como contraponto daquela perspectiva trazida do fundo. A
superfcie j no um local de esquecimento, mas um campo de batalha entre o
estabelecido e o novo.
Para encerrar este tpico sobre a posio do humor nos estudos crticos,
um caso bem especial merece ser destacado. Na Histria da inteligncia
brasileira, Wilson Martins aponta, em sete volumes, os autores fundamentais
presentes na intelectualidade nacional. Listando as principais obras lanadas na
dcada de 50, o autor tece um rpido comentrio sobre o humor, aps incluir no
rol Tempo e contratempo, de Millr Fernandes:
(...) se considerarmos o humorismo, como devemos, uma das artes menores. /O
registro era tanto mais necessrio quanto, j em 1957, Vo Gogo inscrevia o seu
nome entre as artes maiores com o Teatro de Milor (sic) Fernandes (...)48.
Talvez a maneira mais comum de entender o valor de uma obra seja
coloc-las numa balana49 ou, no caso, medir-lhes o tamanho. Comparando
47
V. GURJO, Maria Ins. Op. cit., p. 44.
48
MARTINS, Wilson. Histria da inteligncia brasileira, v.7, p. 380.
31
grandezas diferentes (pois maior e menor exigem um termo de confronto ao
qual se referem: uma coisa maior porque h outra menor e vice-versa), fica bem
clara a separao. O teatro, mesmo sendo comdia, seria para Wilson Martins arte
maior, ao passo que o humorismo seria arte menor. Porm, uma observao: com
a orao como devemos, o autor deixa patente um critrio permeado de rigidez.
Feitos alguns apontamentos sobre como o humor se mostra na teoria da
literatura, cabe agora definir o que o humor, e especificamente que tipo de
humor nos interessa.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
2.4 - Do riso ao humor
Assim a alma esconde sob um vu enganoso as
paixes contrrias que a perturbam; no raro est
ela triste quando seu rosto irradia alegria, e
alegre quando parece triste.
Petrarca
Entre o riso e a lgrima h apenas o nariz.
Millr Fernandes
At agora usamos os termos humorstico, cmico e satrico quase
como sinnimos. H certamente uma relao do riso com todas essas categorias,
mas, da mesma forma que elas possuem elementos em comum, algumas
diferenas so encontradas, tanto no modo de produo desses tipos de texto,
como na sua inteno e no efeito provocado por eles. Alm, claro, da relao
entre as suas ocorrncias enquanto manifestao literria e o contexto sciohistrico.
Desde a Antiguidade j se nota uma preocupao em definir o que o riso
e determinar a sua natureza. O ridculo, significando aquilo de que se ri, sem o
sentido pejorativo que hoje lhe damos, era designado pelos termos geloion, em
grego, e ridiculum, em latim. Em algumas lnguas houve uma traduo com dois
49
Tal como Aristfanes fez com os versos de Eurpedes e squilo em "As rs".
32
sentido um pouco diferentes, como no alemo: Komik (cmico) seria diferente de
Witz (chiste). O termo Humor (humor) teria surgido mais recentemente. Essas
divises so semelhantes ao que ocorre no ingls: comic, wit e humor teriam
basicamente as mesmas acepes. O adjetivo francs ridicule condensaria tanto o
sentido de ridculo quanto o de o cmico, se estiver substantivado. Na lngua
portuguesa, o termo humor nos chegou da mesma forma que no italiano,
derivado do latim, primeiramente, com o sentido de corpo fluido50. Num segundo
momento, assumiu o valor de fantasia, capricho, vigor ou simplesmente
disposio do esprito. Da, por extenso de sentido, o termo passou, a partir do
sc. XVIII, a designar um modo peculiar de expresso, no necessariamente com
a finalidade de provocar o riso, e sim demonstrar uma espcie de mistura de
elegncia, malcia e superioridade discursivas. Alguns tericos, como Mikhail
Bakhtin, consideram o humor como uma forma reduzida do riso, uma derivao
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
romntica destituda do carter regenerador que havia no riso das festividades
populares da Idade Mdia51. Hoje, o termo humor abarca quase toda
manifestao que provoque riso, principalmente se veiculada em meio impresso
ou televisivo. Incorporado cultura de massa, o termo humor faz parte da
indstria do entretenimento. As comdias cinematogrficas so caracterizadas
muitas vezes pelo seu humor fino, significando mais um recurso do que um
gnero de filmes. Na televiso, por exemplo, os sitcoms (abreviatura de situation
comedy, comdia de situao) possuem uma frmula fixa para retratar o
comportamento da sociedade urbanizada. So chamados humoristas tambm
aqueles que representam personagens cmicos na TV, alm dos roteiristas que os
criam. Para as pessoas de um modo geral, a concepo de humor quase a mesma
do sentido de comicidade, associada diretamente ao riso como seu objetivo
fundamental.
O fato de o termo humor ter surgido num momento de ascenso
burguesa nos leva a um ponto que merece maior ateno: as manifestaes do riso
esto intimamente atreladas s convenes histrico-sociais. Jacques Le Goff, em
artigo sobre o riso na Idade Mdia, afirma que o riso um fenmeno cultural. De
50
Segundo o Dicionrio Houaiss da lngua portuguesa, a primeira apario do termo no Portugus
Medieval data do sculo XIII. J o sentido de estado de esprito teria surgido no sculo XVI.
51
Cf. BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Mdia e no Renascimento: o contexto de
Franois Rabelais, p. 37.
33
acordo com a sociedade e a poca, as atitudes em relao ao riso, a maneira como
praticado, seus alvos e suas formas no so constantes, mas mutveis.52 Da
que exista uma certa dificuldade em caracterizar o riso, o humor, ou o sentido de
comicidade destituindo-os do seu contexto. Cada sociedade ri de uma maneira
diferente, de acordo com um conjunto de cdigos estabelecidos, aceito e
compreendido pelos indivduos. Observando com mais apuro, nota-se que o
objeto risvel pode variar at dentro de uma mesma sociedade, na medida em que
fatores como classe social, faixa etria e at mesmo o sexo53 so determinantes na
maneira como as pessoas se predispem a rir e fazer rir. A observao do
fenmeno, portanto, no deve ignorar o meio em que ele ocorre.
Cabe agora tentar entender o que o riso, suas causas e efeitos, e em que
medida ele se relaciona com o nosso objeto principal, que o humor na poesia.
Uma das assertivas aristotlicas, repetida em vrios estudos posteriores
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
sobre o riso, a de que ele prprio do homem. Cabe lembrar que essa frase, to
citada, no consta na sua Arte potica, e sim em outra obra de cunho biolgico,
chamada Partes dos animais. Observando-se por esse campo, estudos recentes
comprovam, no entanto, que o riso comum tambm entre os animais. A
especialista em biopsicologia Silvia Helena Cardoso revela, por exemplo, que o
riso bsico o da brincadeira, da diverso, do movimento da face e da
vocalizao ns compartilhamos com diversos animais54. bom atentar que
esse tipo de riso apenas o movimento fisionmico, relacionado mais a instinto
que a intelecto, como o riso em ns provocado por ccegas.
Quando entram em questo as relaes sociais, o riso surge como elemento
pacificador, como se amenizasse uma pulso agressiva. A pesquisadora afirma
que os animais possuem ainda essa agressividade instintiva, que est embutida nas
relaes entre grupos, por exemplo, para defender territrio. O homem, apesar de
52
LE GOFF, Jacques. O riso na Idade Mdia. In: BREMMER, Jan & ROODENBURG,
HERMAN (org). Uma histria cultural do humor, p. 65.
53
A esse respeito interessante o comentrio de Ted Cohen, para quem os homens so mais
propensos a contar piadas que as mulheres como recurso de sociabilizao: Men are probably
more often joke-tellers than women. Why is that? Perhaps women have other conversational
devices for establishing and maintaining intimacy, while for at least some men, joke-telling is a
primary device of this kind. In: COHEN, Ted. Jokes: philosophical thoughts on joking matters, p.
69. [Homens so freqentemente mais contadores de piadas que as mulheres. Por que isso? Talvez
as mulheres tenham outros dispositivos sociveis para estabelecer e manter intimidade, enquanto
para pelo menos alguns homens, contar piadas um dispositivo primrio deste tipo].
54
CARDOSO, Silvia Helena. Compartilhamos o riso com os animais. O Globo, Rio de Janeiro, 20
mai. 2002, p. 24.
34
possuir ainda esse instinto, precisa desenvolver as relaes, utilizando o riso como
elemento de sociabilidade. Tal ideia similar do etologista vienense Konrad
Lorenz, que v o riso como uma forma controlada de agresso. O movimento de
mostrar os dentes era uma forma primitiva de assustar um inimigo, mostrando-se
superior a ele. Rir do outro , por derivao, mostrar que se est mais adaptado a
uma determinada situao. No homem evoludo, portanto, esse ato serviria para
revelar que ele est mais intelectualmente preparado dentro daquele contexto. Para
Lorenz, o riso tambm no deixa de ser uma espcie de urro, um sinal vocalizador
da vitria, que teria surgido antes mesmo da linguagem. Ainda aqui perceptvel
a relao do riso com o instinto.
Notamos que o riso no exclusividade do ser humano, mas que ele se
humaniza medida que as relaes sociais se fazem necessrias. Os resultados
da pesquisa de Silvia Helena Cardoso revelam que a maior parte das situaes de
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
riso decorrente de situaes sociais, como, por exemplo, quando as pessoas se
encontram: Isso indica que o riso e o sorriso (uma expresso atenuada do
primeiro) acontecem para comunicao. (...) Quando rimos indicamos que no h
agresso, que estamos querendo nos aproximar55. O riso se mostra como um
meio de tornar possvel a aceitao do indivduo dentro de um grupo, agindo
positivamente nas relaes sociais56.
Passemos para um segundo momento de observao, situando o riso como
uma manifestao coletiva. Henri Bergson j definiu essa diretriz no incio do seu
comentado ensaio O riso: Para compreender o riso, preciso coloc-lo em seu
meio natural, que a sociedade; preciso, sobretudo, determinar sua funo til,
que uma funo social.57 Tal viso o eixo em torno do qual gira a concepo
do riso no ensaio bergsoniano. Em linhas gerais, a ideia que o riso surge da
necessidade de se restabelecer a ordem da vida, uma vez que ela se mostre
mecanizada. Segundo essa teoria do mecnico aplicado sobre o vivo, a
55
Idem,
ibidem.
56
No podemos ignorar o adgio segundo o qual rir o melhor remdio. Cientificamente, h
estudos que de certa forma confirmam o dito popular: O riso promove uma diminuio da tenso
muscular s dar uma gargalhada que a gente relaxa. O riso tambm afeta o sistema
cardiovascular: aumenta a freqncia cardaca. A freqncia e a intensidade da onda sonora do riso
indicam um aumento da entrada de oxignio no organismo. Estudos tambm mostraram que o riso
promove uma sntese de tipos de morfina endgena conhecida por atenuar a dor e promover bemestar. Tambm h pesquisas que mostraram que o riso beneficiaria o sistema imunolgico. In:
CARDOSO, Silvia Helena. Op. cit.
57
BERGSON, Henri. O riso, p. 6.
35
comicidade seria um momento no qual a elasticidade humana ou seja, a
capacidade de ser flexvel diante das mais diversas situaes dentro da sociedade
falha, gerando uma rigidez de pensamento e/ou atitudes, ou mesmo uma rigidez
de aparncia, da forma. O riso seria o castigo, a correo dessa falha, a sano
social.
Um dos exemplos mais claros da teoria bergsoniana pode ser observado no
filme Tempos Modernos, quando Carlitos, personagem de Chaplin, sai da fbrica
e continua exercendo o movimento mecnico de apertar parafusos. Ele est no s
mostrando a aquisio de uma caracterstica da mquina, mas tambm que a
prpria mquina j comea a assimil-lo para dentro de si. Porque ele no a est
imitando, uma continuao dela, um brao que sai s ruas. Automatismo,
rigidez, hbito adquirido e conservado, so os traos pelos quais uma fisionomia
nos causa riso.58 O movimento mecnico de Carlitos produz um esquecimento de
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
ordem social, levando o espectador a distanciar-se daquele personagem, como se
no devesse repetir aqueles movimentos.
A teoria de Bergson, todavia, no completa. H algumas contradies
quando ele afirma, por exemplo, que o riso um agente de manuteno, de
conserto quando se foge s convenes sociais, humilhando aquele que toma
liberdades numa sociedade regida por normas. Por outro lado, sustenta que as
sociedades que esto em mudana constante, e que deve se rir daquele que se
mantm rgido, sem acompanhar essas mudanas. Verena Alberti tambm aponta
como ambivalncia o fato de que a ideia central do mecnico aplicado sobre o
vivo cede lugar distrao, que passa a ser a principal categoria de entendimento
do riso e do cmico. Vilma Aras, no livro Iniciao comdia, tambm indica
algumas lacunas no ensaio de Bergson. Para ela,
a maior crtica que se pode fazer a Bergson que, segundo ele, a funo til do
riso no varia com as diferentes sociedades. A ele tambm no ocorre que
diversos estratos sociais, em conflito e contradio, possam fazer um uso diverso
do cmico. Tem em mente um modelo de sociedade de tradio humanstica, que
o riso contribuiria para equilibrar.59
Como j afirmamos, o riso nunca est afastado do processo histrico e do
contexto onde ocorre, e se manifesta de acordo com essas variaes. O estudo de
58
59
Idem, p. 21.
ARAS, Vilma. Op. cit., p. 27.
36
Bakhtin sobre o riso na Idade Mdia toma essa direo, pois estabelece, atravs do
riso, um contraponto entre classe dominante e cultura popular da poca. O terico
russo afirma que o riso possua um carter rejuvenescedor, expresso nas
festividades carnavalescas, mostrando uma viso de mundo que se contrapunha s
normas oficiais baseadas nas verdades do cristianismo. O carnaval era o momento
do um no lugar do outro, do mundo s avessas, em que se invertiam as
posies da alta e baixa culturas. Em excelente estudo sobre a vida e a obra de
Bakhtin, Katerina Clark e Michael Holquist destacam a importncia dada pelo
terico a esse aspecto, que naquele contexto servia como um instante de libertao
do povo:
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
A funo da cultura popular no apenas de desmascarar figuras de autoridades e
noes recebidas, como um saudvel antdoto ao embotamento e secura da
cultura oficial. O humor popular importa em consideravelmente mais do que
mera irreverncia galhofeira, pois o povo assume espertamente o papel de
baluarte contra a represso.60
Dessa troca entre elementos dspares Bakhtin desenvolveu o conceito de
carnavalizao, que acabou se estendendo tambm literatura: no Renascimento
que autores voltados para o riso obtiveram reconhecimento de peso, como
Cervantes, Bocaccio e Rabelais, sendo que este ltimo recebeu especial ateno
de Bakhtin. A partir de certo momento, no entanto, o riso carnavalesco
desaparece, e no seu lugar surge o riso burgus: Na literatura carnavalizada dos
sculos XVIII e XIX o riso, regra geral, consideravelmente abafado, chegando
ironia, ao humor e a outras formas de riso reduzido.61 Para o autor, as
manifestaes modernas do riso perderam o carter de rejuvenescimento,
passando a ser mais corrosivas e, por isso, formas menores.
Ao que Bakhtin denomina riso reduzido podemos associar o surgimento
daquilo que entendemos por humor. A ascenso burguesa coincide com o
desenvolvimento de novas formas de organizao social, e a vida em sociedade
que determina o que pode ser risvel ou no, e em que condies especficas.
possvel que, via literatura, o humor tenha se imposto ao dia-a-dia como uma
forma requintada de o homem burgus mostrar sua individualidade dentro de um
certo grupo. J no se trataria do riso explcito, do riso cmico, mas de uma forma
60
KATERINA, Clark & HOLQUIST, Michael. Mikhail Bakhtin, p. 323. Segundo os autores,
Bakhtin planejava ainda escrever um livro intitulado O papel social do riso.
61
BAKHTIN, MiKhail. Problemas na Potica de Dostoivski, p. 143.
37
quase desdenhosa de provocar um novo tipo de riso. No toa que o termo
humour, com o sentido moderno, tenha surgido na Inglaterra do sculo XVIII,
em plena a Revoluo Industrial, perodo em que grandes mudanas econmicosociais ocorriam nesse pas.
Um dos pressupostos do humor moderno seria o distanciamento em que o
humorista se coloca diante do seu objeto. Essa seria uma das diferenas entre ele e
o satrico, que j existia. H alguma preocupao em distinguir o humor da stira
e do cmico, e at do irnico, principalmente em autores de textos humorsticos62.
O cronista Humberto de Campos, por exemplo, em seu discurso de posse na
Academia Brasileira de Letras, afirma que o humorismo seria a arte de distanciar
certo indivduo do seu meio para ele se divertir com os seus semelhantes, da
mesma forma que os deuses se divertiam com os homens. O autor se referia a
Emlio de Menezes, poeta falecido cuja cadeira iria ocupar na ABL, e que
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
escreveu uma poesia fundamentalmente satrica, sobre a qual nos deteremos mais
adiante. O satrico, para Campos, seria voltado para agredir um indivduo ou
grupo, por isso que s poderia ter surgido numa sociedade belicosa como a grega.
Para o cronista, o satrico zomba de um grupo especfico, intentando corro-lo nos
seus sustentculos, enquanto que o humorista busca abranger o conjunto,
semeando uma chuva cida sobre toda a superfcie terrestre63.
O pequeno artigo de Brecht, Efeitos de distanciamento na arte dramtica
chinesa, serve de auxlio para se entender essa posio em que o humorista se
coloca. Embora verse sobre teatro, o efeito de distanciamento descrito pelo autor
alemo de extrema valia. Para Brecht, o teatro chins caracterizado por
empregar um efeito de distanciamento, diferente do europeu. Enquanto este
baseado na empatia aristotlica (mimtica), aquele apresenta o espetculo para o
domnio consciente do espectador. No h uma tentativa do artista de criar uma
iluso, mas explicitar que se trata de um fato encenado. A inteno manter o
espectador desperto, consciente, e crtico em relao quilo que est sua frente:
Um teatro que seja novo necessita, entre outros, do efeito do distanciamento,
62
Monteiro Lobato afirma que h uma centena de autores que tentam definir o humor, assim como
h inmeras definies de arte e mil remdios para a tosse, provando que o humor e a arte so
indefinveis e a tosse incurvel. Porm ele mesmo no resistiu em dar a sua definio: Humor a
maneira imprevisvel, certa e filosfica de ver as coisas. Apud TAVARES, Hnio. Op. cit., p.
147.
63
Cf. CAMPOS, Humberto de. Antologia da ABL, p. 359.
38
para exercer crtica social (...)64. Da mesma forma, o humor no visa a uma
identificao, mas deixa claro que h uma perspectiva diferente dos fatos tratados,
que h uma viso no-oficial. Mais precisamente o do sculo XX atua dessa
forma, caracterizando-se fundamentalmente pela capacidade de provocar uma
posio crtica, e j no tanto com a pretenso galante do humor romntico. O
humorista se distancia, e quer que o seu pblico faa o mesmo.
A transio do humor romntico para o humor do sculo XX deve ser
observada com maior ateno, pois segue concomitantemente s mudanas
ocorridas nas sociedades no mesmo perodo. Aps o estabelecimento do humor no
Romantismo como elemento privilegiado do discurso literrio, as vanguardas do
incio do sculo como se ver em captulo seguinte, encontraram no humor um
recurso que foi utilizado ad nauseam como elemento transgressor tanto na
quanto da prpria tradio literria e cultural.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
A posio na qual o humorista se coloca para analisar o mundo, por
exemplo, seria decorrente de um sentimento de mal-estar, iniciado no
Romantismo e agravado no sculo XX. O terico alemo Jean Paul Richter j
havia feito a distino entre o cmico clssico e o cmico romntico: enquanto o
primeiro era marcado pela stira vulgar e o escrnio sobre vcios e defeitos, sem
nenhuma comiserao ou piedade, no segundo j entra o humor, que para ele
uma mescla de dor e riso filosfico, passvel de tolerncia e simpatia65.
Magalhes Jr., no prefcio da sua Antologia de humorismo e stira, se
preocupa tambm em estabelecer a diferena entre os dois termos. O humorista
seria aquele que zomba no s do mundo, mas tambm de si mesmo; o satrico,
por outro lado, selecionaria um indivduo, ou um grupo especfico. O humor,
portanto, seria um ataque geral, e a stira um ataque especfico. Acrescenta ainda
que a crueldade, caracterstica fundamental da stira, tambm comum ao humor:
No h nada mais raro do que o chamado humorismo inocente. O verdadeiro
fundo de humorismo , de algum modo, tambm satrico.66 Na Teoria Literria
de Hnio Tavares h uma citao de W. A. Pannenborg, cuja obra crivains
satiriques, de 1955, tece as caractersticas dos vrios tipos de escritores. O
humorista teria como propriedades a ternura, seduo, estreiteza de conscincia e
64
BRECHT, Bertold. Estudos sobre teatro, p. 66.
Cf PIRANDELLO, Luigi. Op. cit., p. 34.
66
MAGALHES JR., Raimundo. Antologia de humorismo e stira, p. 12.
65
39
tendncia ao altrusmo. J no satrico seriam observados avidez, agressividade,
largueza
de
conscincia
propenses
ao egosmo.67 Como exemplo,
respectivamente, se enquadrariam Cervantes e Quevedo.
Essas categorias so um tanto quanto rigorosas, e podem se contradizer
caso observemos os exemplos com mais cuidado. O D. Quixote, segundo o
critrio acima, satrico j no seu prlogo. Existe ali uma crtica aos cnones da
poca, no s no que se refere s novelas de cavalaria, mas maneira como as
obras eram apresentadas: se era comum sonetos de pessoas ilustres figurarem nos
prefcios, a fim de dar obra um ar de reconhecimento, Cervantes oferece nada
menos que um escrito retratando um dilogo entre montaria do protagonista, o
Roncinante, e aquele que seria seu bisav, Babieca, o cavalo que teria servido a
Rodrigo Daz, o El Cid:
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
B. Como ests, Rocinante, to delgado?
R. Porque nunca se come, e se trabalha.
B. Onde a tua cevada e a tua palha?
R. Meu amo no me deixa nem um bocado.
B. Vai, senhor, que tagarela,
Teu amo ultrajando frente a mim.
R. E tu, que asno ser at o fim,
Se de amor caste na esparrela?
B. burrice amar? R. Acho imprudente.
B. Andas filsofo. R. Ando com fome.
B. Mgoa do escudeiro. R. Ser bastante.
E vou eu queixar-me a toda gente
Se o amo ou escudeiro ou l que nome
So to rocins como eu Rocinante?68
Outros sonetos dessa introduo ao livro so atribudos a Amadis de
Gaula, personagem famoso das novelas de cavalaria, Orlando Furioso, Gandalim
e Oriana (respectivamente escudeiro e amada de Amadis). Embora no haja
agressividade explcita, que caracterizaria o satrico, tampouco um egosmo
notrio, a existncia de sonetos atribudos a personagens intenta a derrubada de
uma prtica comum ao modo de apresentao dos livros de ento. A definio de
stira, segundo o Dicionrio Houaiss, a de, na literatura latina, composio
potica jocosa ou indignada contra as instituies, os costumes e as ideias
67
68
Cf TAVARES, Hnio. Op. cit., p. 146.
CERVANTES, Miguel de. Dom Quixote de la Mancha. P. 27.
40
contemporneas69. Ou seja, a proposta de Cervantes seria de subverter um
costume pondo personagens no lugar de autores renomados. Nesse caso, os
conceitos de stira e humor seriam no excludentes, mas cambiantes.
Na poesia, h que se considerar todo um vis de recriao potica nas
pardias e mesmo na pluralidade de poemas heri-cmicos. Gilberto Mendona
Teles, em rica anlise sobre essa modalidade potica na tradio portuguesa,
assim os define:
A imitao humorstica de um texto srio o que se entende, em geral, como
pardia e poema heri-cmico, em que os elementos que caracterizam o estilo e o
esprito de um autor ou de um texto so retomados noutro discurso com o
propsito de ridicularizar o primeiro texto.70
Textos como a Batracomiomaquia (ou A batalha dos sapos e ratos),
pardia da Ilada e de autoria atribuda ora a Homero ora a Pigres71, um dos
mais antigos e importantes exemplos. Essa mescla de sublime e ridculo,
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
colocando em confronto os grandes feitos e a condio mundana do homem,
questiona o prprio conceito de monumento que est subjacente em todas as
epopeias em suas verses originais e "srias" que se tornam objeto da pardia.
Feita essa distino, outra preocupao seria diferenciar o humorstico do
cmico. Segundo Pirandello, o cmico a advertncia do contrrio; j o humor
o sentimento do contrrio. Nessa diferena que reside o elemento da reflexo,
que pode, inclusive, incapacitar o riso que surge naturalmente no cmico.
Enquanto o cmico percebe o oposto, o humorismo sente o oposto. O primeiro
apresenta o objeto que rompe a norma; o outro pergunta por que o objeto rompe a
norma. Talvez por isso o humor tenha se proliferado no ambiente dos conflitos
urbanos: o humorista tambm sofre na pele aquilo que denuncia. Ele se distancia
mas sabe que tambm faz parte daquele todo.
interessante a inteno de agregar ao humor a caracterstica de
compaixo, pois vai de encontro ao que afirma Bergson, para quem o sentido
geral de cmico s possvel se no houver nenhum trao de emotividade72. A
definio que Bergson d ao humor ainda bem parecida com a romntica,
69
Cf. Dicionrio eletrnico Houaiss da lngua portuguesa 1.0.
TELES, Gilberto Mendona. Cames e a poesia brasileira. p. 324.
71
curioso o fato de que ambos os autores tm, frequentemente, sua prpria existncia
questionada.
72
Essa regra no procede se levarmos em conta os vrios modos de manifestao do riso. Ele pode
ser emocional, por exemplo, quando algum resolve um puzzle. um riso prazeroso e nocmico.
70
41
segundo a qual o humorista demonstra uma atitude de altivez. Na recente edio
de O Riso, h uma nota de rodap em que a tradutora Ivone Castilho Benedetti
esclarece o uso que Bergson fazia do termo humour:
Mantivemos aqui e nas prximas ocorrncias a grafia humour (presente, alis, em
nossos dicionrios) para expressar a ideia contida nesse termo em francs, ideia a
que Bergson aqui parece referir-se, ou seja: a de uma forma espirituosa de
apresentar a realidade, de tal maneira que dela so depreendidos os aspectos
jocosos e inslitos, s vezes absurdos, com uma atitude de indiferena e muitas
vezes de formalismo.73
Para Bergson o humor seria o inverso da ironia, pois nesta ocorre um
enunciado no qual se finge acreditar, enquanto naquele h uma descrio
meticulosa, minuciosa e indiferente. Por isso que o humorista teria algo de
cientfico, ao passo que a ironia seria mais de natureza oratria. Essa insistncia
na frieza do humorista acaba se dissolvendo algumas dcadas depois (o ensaio de
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Bergson de 1899), pois uma caracterstica comum s definies do humor no
sculo XX a presena da tolerncia, da indulgncia, da compaixo naquele que
escreve humor. Pirandello acredita que a perplexidade diante do real que vai
marcar o humorista, diferenciando-o das outras categorias. Essa perplexidade o
mantm hesitante, introspectivo, justamente por sentir a contradio das coisas,
fato que j no ocorre com o cmico, o irnico ou o satrico. Para ele,
No nasce nestes outros o sentimento do contrrio; se nascesse, tornar-se-ia
amargo, isto , no mais cmico, o riso provocado no primeiro pela lembrana de
qualquer anormalidade; a contradio entre o que se diz e o que quer que seja
entendido, que no segundo somente verbal, tornar-se ia efetiva, substancial e,
portanto, no mais irnica; e cessaria o desdm ou, comumente, a averso pela
realidade, que a razo de toda stira.74
O sentimento existente
no humor, embora
se manifeste mais
explicitamente no sculo XX, tem as suas razes mesmas no prprio Romantismo,
naquilo que se chamou mal-do-sculo. Desenvolver esta associao requer uma
abordagem pouco comum aos estudos sobre o assunto, justamente por ser comum
a perspectiva unilateral, qual deve ser acrescentada uma proposio que, nesta
parte terica, ser observada na potica de autores como lvares de Azevedo: o
humor est to prximo do riso quanto do choro.
73
74
Cf BERGSON, Henri. Op. cit., p. 92.
PIRANDELLO, Luigi. Op. cit., p. 155.
42
Segundo a etimologia do termo humor, ele designava, na Antiguidade,
os quatro tipos de lquidos secretados pelo corpo, que determinavam a causa das
enfermidades dos homens: sangue, bile amarela, fleuma e bile negra. Pirandello
cita os quatro humores como sangue, clera, fleuma e melancolia. A
predominncia de estados de esprito negativos sugeridos por esse humores
alm da melancolia, eles seriam responsveis pela apatia, irritabilidade e revolta
poderia ser um indicativo daquela posio em que o humorista burgus se
colocaria diante do seu objeto. Ou seja, ele converteria em mtodo de produo
textual o que outrora servia para determinar a condio psicofisiolgica.
Pirandello reitera que essa associao no pode ser evitada:
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Ser melhor, ao se tratar de humorismo, levar em considerao tambm o
significado de doena da palavra humor, e que melancolia, antes de significar a
delicada afeco ou paixo de esprito que conhecemos, tenha tido originalmente
o sentido de blis ou fel, e tenha sido, para os antigos, um humor no sentido
75
original da palavra.
possvel observar que tristeza e alegria caminham prximos tambm em
outras formas literrias. J soa equivocado, na atualidade, repetir o que dizia
Aristteles, segundo quem a tragdia se ope comdia. Sabe-se hoje que tal
assertiva j no suficiente, uma vez que ambos os gneros no chegam a ser
contrrios um do outro. O cmico no o no-trgico. antes o no-srio. Por
isso que a comdia pode comportar ao mesmo tempo o riso e o choro. Segundo
Pirandello, na Antiguidade essas duas reaes no eram excludentes entre si, pois
havia o pranto e o riso, no o pranto ou o riso; e, se o intelecto podia notar o
contraste, porque a arte no teria podido exprimi-lo?76 O cmico, ento, pode
no s complementar o trgico, mas tambm ser o trgico. Esse aspecto que
acompanhou o cmico at ele se transformar em humor.
H o que se poderia chamar de riso cmico e riso trgico. Como na
definio de humor dada por Leon Eliachar:
Humorismo a arte de fazer ccegas no raciocnio dos outros. H duas espcies
de humorismo: o trgico e o cmico. O trgico o que no consegue fazer rir; o
cmico o que verdadeiramente trgico para se fazer.77
75
Idem, ibidem, p. 20.
Pirandello, Luigi. Op. cit., p. 31.
77
Cf. www.releituras.com/reler, disponvel em 28/03/2001. Consta ainda que esta definio de
humor foi laureada com o primeiro prmio ("PALMA DE OURO") na IX Exposio Internacional
de Humorismo, realizada Itlia em 1956.
76
43
O riso reduzido a que se referiu Bakhtin pode ser chamado tambm de riso
triste. Pois na sua causa, assim como na sua realizao, uma pecha de melancolia
sempre est presente, como afirma Mark Twain: A fonte secreta do humor no
a alegria, mas a mgoa, a aflio, o sofrimento. No h humor no cu.78
O subgnero tragicomdia, surgido no o sculo XVI, seria um hbrido do
trgico e do cmico, mas acabou na verdade adquirindo autonomia, no chegando
a ser nenhum dos dois79. H acontecimentos funestos, mas o desfecho feliz,
embora no seja cmico. O drama surgiu tambm neste sculo, ganhando fora a
partir da obra de Shakespeare. Mas foi o Romantismo que lhe deu relevo
definitivo como espcie literria. O drama a evoluo (ou modernizao) da
tragicomdia. tambm uma espcie mista na qual se fundem os elementos da
tragdia e da comdia.
Nesse caso, o riso moderno (ou seja, do nascimento do riso burgus para
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
c) j estaria entrando no domnio da seriedade tpica do trgico. Joyce Hertzler,
no livro Laughter: A Socio-Scientific Analysis, sustenta que uma das funes do
humor justamente se voltar para a seriedade: Humor is also used to depict and
point up a serious situation; under some circumstances it may bring results usually
associated with tragedy.80 A linha divisria entre ambas as esferas se dissolveria
cada vez mais na contemporaneidade. Deleuze tambm afirma que o humor surgiu
para substituir o trgico e o irnico.
No prprio melodrama, subgnero teatral francs surgido no sculo XVIII,
dentre os quatro personagens arquetpicos que compunham a trama, um deveria
ter a funo de pcaro, de provocar o riso, mesmo que o objetivo central desse tipo
de teatro fosse o choro. Parece haver uma necessidade de oferecer o riso como
compensao ao pranto, da mesma maneira que, na Antigidade, aps as trilogias
trgicas serem apresentadas, uma pea burlesca servia como um momento de
descontrao.
Essa alternncia entre alegria e tristeza bem prpria da vida, em que no
h um predomnio certo nem de uma nem de outra. Talvez por isso o humor,
78
Idem.
Segundo Vilma Aras, o termo tragicomdia foi na verdade inventado por Plauto, para se
defender da acusao de usar um deus como protagonista de Anfitrio. Op. cit., p. 17.
80
HERTZLER, Joyce O. Laughter: A Socio-Scientific Analysis, p. 22. [O humor tambm usado
para descrever e apontar uma situao sria; sob algumas circunstncias pode trazer normalmente
resultados associados com tragdia]. * Traduzi livremente as citaes em ingls, que sero
dispostas entre colchetes aps a referncia bibliogrfica, como neste caso.
79
44
misto de ambas, tenha sido uma das mais fortes formas de expresso nos ltimos
tempos. Como nos dizeres de Giordano Bruno: In tristitia hilaris; in hilaritate
tristis Na tristeza, alegre; na alegria, triste. O humor, ento, no teria s a
capacidade de apontar e estabelecer relaes entre elementos contraditrios, mas
ele mesmo , em essncia, uma forma auto e intraparadoxal de expresso. E
nenhuma poca foi to contraditria, to de extremos, como o ltimo sculo.
Por isso que Ziraldo afirma que o humor a grande linguagem do sculo
XX, acima do sexo e da violncia81. Embora devamos considerar que ele trabalha
com humorismo h dcadas, e por isso pode no possuir a iseno necessria para
falar da prpria atividade, h um certo sentido nessa proposio. Principalmente
porque o humor passou a ter mais marcadamente uma atuao no campo poltico e
na crtica cultura de massa, mas ainda sem deixar de tratar da vida humana em
geral. Essas caractersticas podem ser depreendidas da definio de humor dada
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
pelo Dicionrio de Comunicao, cuja elaborao, alis, foi feita pela editora
CODECRI (Comit de Defesa do Crioulu), por sua vez pertencente ao jornal
Pasquim, dirigido durante muito tempo por Ziraldo:
O humor uma posio de esprito. Uma postura que possibilita uma viso
desmistificadora da existncia humana. [...] o humor uma forma criativa de
descobrir, revelar e analisar criticamente o homem e a vida. uma forma de
desmontar, atravs da imaginao, um falso equilbrio anteriormente sustentado
pela prpria imaginao [...].
da prpria natureza do humor o tentar descobrir, atravs de seu mtodo, onde
est a mentira no fato apresentado como verdadeiro.82
esse tipo de humor que nos cabe agora investigar, e em que medida ele
pode atuar na sociedade e nas suas instituies estabelecedoras de normas.
Observaremos tambm o modo como a representao humorstica se relaciona
com a realidade brasileira, funcionando como um elemento transgressor da ordem
instituda pelo poder oficial.
81
Apud TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Uma introduo ao estudo do humor na lingstica. In:
D.E.L.T.A., vol. 6, n 1, 1990.
82
Apud GURJO, Maria Ins. Op. cit., pp. 45-46.
45
2.5 Humor e establishment
A vida em sociedade se caracteriza por ter como objetivo principal a
construo e a manuteno de um equilbrio nas relaes entre os cidados. Ao
sair das normas, ou mesmo question-las, ocorre o que a prpria sociedade
denomina marginalizao.
Tomemos como exemplo dois indivduos caminhando pela rua, em
qualquer metrpole contempornea. Um segue bem vestido, barbeado, portando
uma maleta, olhando o relgio enquanto atravessa a rua apressadamente:
impvido, altivo e determinado, segue fixo para o seu objetivo. O segundo anda
devagar, sem rumo definido. Ora para um lado, ora para outro. Veste-se de
maneira no-convencional: camisa pelo avesso, calas maiores que o seu
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
tamanho, descalo. Observa todos os outros transeuntes, at que v o primeiro
passando, na sua marcha clere, o anti-flneur por excelncia. A cena seria bem
comum, no fosse por um ato irresistvel ao segundo: ele imita o outro.
Rapidamente cata um pedao de papelo, usado como a maleta. Segue o homem
sem que este o veja, em passadas simultneas; quando o primeiro confere as horas
mais uma vez, o outro repete, olhando para o pulso vazio. Algumas pessoas
olham, riem, outras fingem no ver. A imitao interrompida to logo o primeiro
homem, desconfiado com os olhares, se vira e descobre o que se passava. Aps a
repreenso, o primeiro homem continua seguindo, olhando o relgio, preocupado,
mas sobretudo srio. O segundo, ainda sem destino, aguarda sua prxima vtima,
mas no sem antes soltar um riso. Ri daquele que acabou de imitar, de si, dos
outros que riram e dos que no riram. Ele ri da sociedade como um todo. Ri por
ter entendido o seu semelhante (certamente bem mais do que este o tenha
entendido) e reduzido o seu comportamento a uma meia dzia de gestos
mecanizados. Ri porque um louco: porque est margem do que determina o
senso comum.
O exemplo pode parecer simplista numa primeira olhada, mas serve como
ilustrao para entendermos, numa situao comum e extremamente plausvel ,
o modo como o conjunto de atitudes humanas pode se mostrar de forma
polarizada na nossa sociedade. As convenes histricas determinam que o
comportamento do nosso primeiro indivduo se encaixa perfeitamente nos padres
46
atuais: ser bem-sucedido, impecvel na aparncia, estar com pressa. Passaria
facilmente despercebido por outros que nele reconhecessem essas caractersticas.
Provavelmente, seria mais notado como um modelo a ser alcanado por outros
transeuntes no to adaptados vida contempornea. No inteno aqui
analisar o que constri esse paradigma de comportamento social mdia, mercado
etc e sim o que pode desconstru-lo. Fiquemos com o olhar daquele a quem
chamamos louco.
O que vai determinar primeiramente a sua posio na sociedade a
aparncia. O seu modo peculiar de se vestir, de (no) se barbear, de andar, f-lo
estar margem do que se espera dele. Imitar outras pessoas que andam pela rua
tambm no corresponde aos anseios da gente comum83. A sociedade, ab initio,
quer um indivduo equilibrado. E uma das principais caractersticas de um sujeito
equilibrado a sua postura sria diante da vida e dos outros. Isso porque na
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
estrutura social h, implicitamente, uma ordem segundo a qual a seriedade impera.
A seriedade harmnica, ela afirma que todas as coisas esto na mais perfeita
ordem. Seriedade quase um sinnimo de ordem.
Porm, essa ideia da seriedade como uma espcie de mo regente da
ordem falha. Segundo Michael Mulkay, there is not one coherent world, but a
multiplicity of contradictory worlds.84 A ideia de uma ordem fixa, portanto,
pressupe a inexistncia, ou mesmo a repreenso, de formas de agir divergentes.
Essa tendncia diferenciao, quando aplicada a sistemas de governo mais
rgidos, como um regime ditatorial, aparece de forma mais explcita, e ser
observada atentamente mais adiante. Vamos nos ater, ainda partindo do exemplo
do louco e do executivo, na questo das contradies entre as instncias da
seriedade e da no-seriedade, e em que medida esta ltima se relaciona com o
humor.
O comportamento srio do primeiro indivduo se contrape diretamente ao
do nosso louco85. A seriedade est explcita, porque a seriedade no s caracteriza
83
Salvo se acontece em programas televisivos dominicais. Mas nesse caso h uma suspenso das
normas, que permitida oficialmente por se tratar de entretenimento.
84
MULKAY, Michael. On Humorur: its nature and its place in modern society, p. 22. [no
existe um mundo coerente, mas uma multiplicidade de mundos contraditrios].
85
Da mesma forma, no cabe aqui uma investigao acerca da loucura como viso de mundo, e
sim a relao ntima desta com o que entendemos por humor. Erasmo, no seu Elogio da Loucura,
acredita que loucura o mesmo que sabedoria, pois, armada do riso, mais eficaz que a razo
(entendamos razo como seriedade): a loucura tem uma fora maior do que a razo, porque,
47
o indivduo equilibrado, mas tambm o afasta da infantilidade, que poderia ser
encontrada na atitude do louco. Erasmo comenta essa questo, afirmando que o
comportamento tipicamente fora do senso comum na idade infantil: O delrio e
a loucura no sero, talvez, prprios das crianas? Que que, a nosso ver, mais
agrada nas crianas? A falta de juzo.86 Porm se o indivduo adulto ainda se
comporta dessa maneira, h que ser repreendido e consertado. Para Bergson o
riso seria uma das formas de consertar esse indivduo afastado dos padres
sociais. No entanto, o ponto de vista bergsoniano deve ser questionado, quando os
elementos envolvidos no processo do riso fazem um movimento contrrio: o
indivduo que ri, ou que causa o riso, que pode estar apontando um aspecto que
precisa ser consertado na sociedade.
Seguindo esse pensamento, e olhando mais uma vez o exemplo dos nossos
dois indivduos, possvel afirmar que o segundo, o louco, embora contrrio ao
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
que a sociedade espera dele, est apontando um defeito87 no comportamento
social, reduzindo o outro a um esquema simples. O riso suscitado aquele que
Propp indica como decorrente de um esvaziamento de um falso contedo, pois
surge quando o defeito exterior percebido como sinal, como signo de uma
insuficincia ou de um vazio interior.88 Nesse momento, imitando o homem
srio, o louco fez-se superior, ignorando o seu papel na escala social. Para mostrar
quo mecanizada se encontra a sociedade, ele se valeu justamente da posio que
lhe fora determinada. Sua perspectiva, a partir da margem, permitiu-lhe fingir ser
o outro, e no ser o outro, porque se distanciou, porque negou as convenes da
vida social (ou porque no lhe foram dadas possibilidades de fazer parte dela).
Sob nosso ponto de vista, ele teve uma atitude humorstica, o que para Pirandello
se justifica pela capacidade de entrar nos moldes da estrutura social e mostrar o
que h por trs dela:
O que so, no fundo, as relaes sociais da assim chamada convenincia?
Consideraes de clculo, nas quais a moralidade sempre sacrificada. O
muitas vezes, aquilo que no se pode conseguir com nenhum argumento se obtm com uma
chacota. Finalmente, eu no desejaria ser a Loucura, se a arte de provocar o riso com gostosas
piadas no fosse exclusivamente minha. In: ROTTERDAM, Erasmo de. Elogio da Loucura, p.
73.
86
Idem, p. 24.
87
Ignoremos se ele faz isso conscientemente ou no: o que importa o sentido que estamos
atribuindo ao seu ato.
88
PROPP, Vladmir. Op. cit., p. 176. Essa ideia est intimamente ligada a de Bergson, segundo a
qual o riso surge quando uma pessoa (flexvel) vista como uma coisa (mecnica).
48
humorismo vai mais adentro, e ri sem indignar-se, descobrindo como, tambm
ingenuamente e com a mxima boa f, por obra de uma fico espontnea, ns
somos induzidos a interpretar como verdadeira cautela, como verdadeiro
sentimento moral, em si, o que no outra coisa, na realidade, seno cautela ou
sentimento de convenincia, isto , de clculo.89
Convm assinalar mais uma vez o carter desmistificador do nosso
exemplo. Ele contraria o que Bergson determinou como principal funo social do
riso. Pois no se trata mais de um riso punidor daquele que burla as normas da
sociedade. A informalidade acaba se sobressaindo ante um sistema de regras
estabelecidas. H uma necessidade, no geral, mas de alguns indivduos, de
mostrar com outra perspectiva a realidade dominante. O mecnico sobre o vivo
a que se referia Bergson no serve apenas para fazer um indivduo se adequar s
convenes sociais. Esse mesmo tipo de riso se volta para um questionamento da
prpria sociedade. Talvez nesse ponto resida a diferena entre o humor do sculo
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
XX e o dos perodos anteriores. Pois se a sociedade se tornou cada vez mais
contraditria, houve uma necessidade maior em apontar essas contradies. Para
Hertzler, o impulso em provocar o riso atua como espelho das mudanas sociais,
mas pode agir ao mesmo tempo como um catalisador de algum tipo de mudana:
Laughter is a factor of social change, both as effect and as cause.90
Mas a mudana provocada pelo riso no se d diretamente, mas como uma
ao intelectual. Foras como o riso, o humor, o cmico, a stira, ou quaisquer
manifestaes dessa ordem atuam no na realidade, mas na forma de perceb-la,
encar-la e, assim, permitir que se tenha uma nova perspectiva sobre ela. Se o riso
pode atuar como uma causa de mudana, deve-se deixar claro que o que ele
promove uma viso diferente da realidade. Ou seja, a inteno , como explicou
Ziraldo91, oferecer uma nova perspectiva das coisas, aps conhec-las por dentro,
tornando possvel uma reflexo, que para Pirandello nada menos que um
demoniozinho que desmonta a combinao de cada imagem, de cada fantasma
colocado sobre o sentimento; desmont-la para ver como feita, quebrar a sua
mola e ranger todo o seu mecanismo, convulso.92 O que se pretende , portanto,
89
PIRANDELLO, Luigi. Op. cit.,p. 146.
HERTZLER, Joyce O. Op. cit., p. 117. [O riso um fator de mudana social, tanto como efeito
quanto como causa].
91
V. GURJO, Maria Ins. Op. cit., p. 44.
92
PIRANDELLO, Luigi. Op. cit., p. 146.
90
49
uma posio que dissolva as convenes, mostrando que nos bastidores da vida
social93 h mais padronizao que a diversidade prpria do homem.
Aps termos observado que o humor funciona de forma no convencional
nas engrenagens sociais pode funcionar como um elemento de mudana social
ou pelo menos como um elemento que aponta o que h de errado na sociedade ,
vejamos como essa relao se deu dialeticamente na histria. Em outras palavras,
observemos em que momentos o riso serviu como elemento de manuteno do
status quo e quando passou a servir como um meio de questionamento, bem como
o que justificaria essa mudana de funo.
Na Potica, Aristteles afirma que a comdia representa os homens piores
do que so. Mas no argumentou muito sobre o riso nas relaes humanas. Em As
Partes dos animais, afirmou apenas que o homem o animal ridens, destacando-o
dos outros pela capacidade nica e exclusiva de rir (opinio que a cincia j vem
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
contestando, como vimos anteriormente). O riso no comportamento social foi
brevemente comentado em tica a Nicmaco. H uma certa ateno para o fato de
o riso no ser usado em excesso, sob pena de caracterizar a bufonaria, e ao mesmo
tempo em ser dosado de acordo com a necessidade do meio. O tipo de gracejos
determina se o homem polido ou ignorante, se agride os outros ou se o coaduna
s regras da convenincia. A forma de gracejar determinaria o carter do
indivduo:
Aqueles que levam a jocosidade excesso so considerados bufes vulgares; so os
que procuram provocar o riso a qualquer preo e, na sua nsia de fazer rir, no se
preocupam com a inconvenincia do que dizem nem em evitar o mal-estar
daqueles que elegem como objeto de seus chistes; ao passo que os que no sabem
gracejar nem suportam os que o fazem, so rsticos e grosseiros. Os que, porm,
gracejam com bom gosto so chamados espirituosos, o que envolve um esprito
vivo que se volta de um lado ao outro; efetivamente, essas agudezas de esprito
so consideradas movimentos do carter, e assim como o corpo foi apreciado
pelos seus movimentos, o carter tambm o .94
Tal viso do riso, se observarmos, tem muitas semelhanas com a postura
diante do riso no Romantismo. Seria por demais arbitrrio chamarmos esse riso
aristotlico de riso burgus, porm a utilizao de gracejos como maneira de se
apresentar socialmente bem caracterstica de tempos modernos. O fato de
93
Erasmo: (...) que , afinal, a vida humana? Uma comdia. Cada qual aparece diferente de si
mesmo; cada qual representa o seu papel sempre mascarado, pelo menos enquanto o chefe dos
comediantes no o faz descer do palco. Op. cit., p. 41.
94
ARISTTELES. tica a Nicmaco, p. 100.
50
gracejar com bom gosto ser marca dos homens espirituosos se assemelha muito
com as definies de humor como uma forma galante de expresso, bem tpica
do sculo XIX. H tambm um critrio de determinao da classe pelo riso
(apesar de os conceitos de estrato social terem surgido bem posteriormente), ao
afirmar que a incapacidade ou intolerncia com relao ao riso determinam se o
indivduo rstico ou polido. Segundo essa proposio, o riso usado com graa e
manejado com espirituosidade seria privilgio de uma camada social definida.
Aristteles tambm se preocupa com a agressividade do chiste e no deixa
de apontar para o cuidado que se deve ter com os alvos do gracejo. H tambm
uma sugesto de cerceamento (censura?) no caso de o riso se voltar para
determinadas questes: o gracejo uma espcie de insulto, e h coisas que os
legisladores nos probem insultar, e talvez devessem tambm proibir-nos de
gracejar a respeito delas.95
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Em princpios da Idade Mdia o riso teria sido abafado pelo poder
religioso, que impunha o silncio e a seriedade. A ideia aristotlica do homem
como nico animal que ri foi posta em discusso diante de outra: se Jesus,
paradigma de comportamento para a humanidade, nunca riu, ento ao homem
cristo este ato tambm deveria ser avaliado como uma forma incorreta de
comportamento96. Mas da sisudez derivou uma arma de grande eficcia para o
controle do povo: o medo. O silncio soprava nos ouvidos humanos a
temerosidade obrigatria decorrente da sua vida de pecados. Porque a ideia era
que quase todas as pessoas comuns, aps a morte, iriam para o inferno, e
comportar-se inadequadamente (entenda-se o riso desenfreado) poderia ser um
indicativo da condenao eterna e inexpugnvel.
Essa relao tem certa semelhana com o que os latifundirios, no Brasil
Colonial, disseminavam entre os escravos: manga misturada ao leite leva a pessoa
morte. Uma vez que as mangas eram abundantes e estavam disposio dos
escravos, eles temiam a combinao fatal e assim no ingeriam o leite dos seus
senhores. A analogia bem indireta quanto ao contexto, mas bem similar no
95
Idem, p. 101.
A relao entre humor e religio ser melhor desenvolvida em tpico posterior sobre a questo
na obra de Millr Fernandes. Detenhamo-nos aqui apenas no carter histrico.
96
51
aspecto da construo do medo como manuteno de um controle97. A associao
do riso s foras diablicas deixava como opo o silncio. Segundo Jacques Le
Goff, o riso o jeito mais horrvel e mais obsceno de quebrar o silncio. Em
relao a esse silncio monstico, que uma virtude existencial fundamental, o
riso uma violao gravssima.98 O riso poderia destruir o medo da servido
religiosa, o medo que o homem deveria ter de Deus. Serve bem como exemplo a
explicao que o personagem Jorge de Burgos d em O nome da rosa sobre o
perigo daquele livro da comdia de Aristteles:
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
O riso libera o aldeo do medo do diabo, porque na festa dos tolos tambm
aparece pobre e tolo, portanto controlvel. Mas este livro poderia ensinar que
libertar-se do medo do diabo sabedoria. Quando ri, enquanto o vinho borbulha
em sua garganta, o aldeo sente-se patro, porque inverteu as relaes de
senhoria: mas este livro poderia ensinar aos doutos os artifcios argutos, e desde
ento ilustres, com que legitimar a inverso. (...) O riso distrai por alguns
instantes o aldeo do medo. Mas a lei imposta pelo medo, cujo nome verdadeiro
temor a Deus.99
Por esse motivo que, durante vrios sculos, a Igreja rejeitou o riso (ou
pelo menos tentou mant-lo isolado). Contudo, ele uma forma de manifestao
incontrolvel sob certas circunstncias tal como o choro , e mesmo havendo
essa relao direta com o corpo material, constituindo um dos motivos da
condenao do riso, acabou requerendo outra perspectiva. Mesmo do sculo IV ao
X os monges praticavam o joca monacorum, piadas escritas sobre monges, curas,
judeus e armnios. Ou seja, no resistiam em manifestar-se jocosamente na sua
realidade pregadora do silncio e da seriedade. Em momento posterior da Idade
Mdia, por volta do sculo XII, a Igreja passou a aceitar o riso, mas distinguindo o
riso bom do riso ruim, associando-os s maneiras adequadas de se portar.
interessante que, usado pelos reis, o riso tenha se convertido em uma forma de
manter o controle, numa posio diferente de outrora, quando tinha sido um meio
de transgredir o silncio religioso. O termo rex facetus designava o rei cuja funo
obrigatria era fazer piadas. Le Goff cita como exemplos Henrique II e So Lus,
que para agradar aos dominicanos e franciscanos decidiu s no rir s sextasfeiras.
97
Ainda h quem acredite nos malefcios da mistura. Assim como h quem, em determinados
contextos, em tom de repreenso, repita a frase No ri, que Deus castiga.
98
LE GOFF, Jacques. O riso na Idade Mdia, p. 73.
99
ECO, Umberto. O nome da rosa, p. 533.
52
Essa funo parece ter se deslocado para um personagem especfico: o
bobo da corte. Luiz Felipe Bata Neves, em seu ensaio A ideologia da seriedade
e o paradoxo do coringa, analisa essa figura, o jester da Idade Mdia europia,
personagem paradoxal, que criticava os poderosos diretamente, sem que os
mesmos se sentissem atingidos. Caso aceitassem a jocosidade e respondessem
seriamente, estariam se denunciando, aceitando como verdadeiras as acusaes
feitas pelo bobo, a priori, sem inteno de um ataque concreto. Isso porque o
bobo da corte no era considerado um membro da sociedade, mas algum de fora,
com uma crtica anrquica e sem valor destrutivo. Antes, sua crtica apontava para
o que destoava das convenes sociais das quais ele no participava.
O coringa do baralho uma representao do bobo da corte, que pode
aparecer em qualquer lugar do jogo, mas sem fazer parte da hierarquia, sem ter
nenhum naipe que o qualifique especificamente, e que ainda pode ser eliminado
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
do baralho sem que com isso algum tipo de jogo fique impedido de ser realizado
( importante quando est presente mas sua falta irrelevante!)100. Antes de mais
nada, o bobo da corte estava a servio do poder e utilizava o riso para mostrar que
sua vtima podendo ser o rei, inclusive estava apresentando alguma
caracterstica que fugia quelas impostas pela ideologia dominante. Portanto a
inteno no era corroer, e sim corrigir. E se antes o rei usava o riso para controlar
e estruturar a sociedade, com o jester essa tarefa continuou sendo executada, mas
por algum voltado exclusivamente para essa funo. Estaramos falando, aqui, de
um riso aparentemente voltado para um ataque, mas que na verdade era um riso
bergsoniano disfarado, ou seja, no objetivava efetivamente uma transgresso do
poder oficial. Eis o porqu de o bobo da corte ser uma figura paradoxal: era um
personagem inferior e fora dos padres de comportamento, ao mesmo tempo em
que tinha nas mos um poder de atacar praticamente todos aqueles que julgasse
destoantes das regras sociais101. Hertzler concorda que o jester era usado para
manter o controle devido sua exclusiva liberdade: widely tolerated, even
100
NEVES, Luiz Felipe Bata. Op. cit., p. 40.
Hoje os bobos da corte no existem mais, o que no impede que haja um humor a favor do
poder. Millr afirma, quanto a essa atitude: Voc a, companheiro de profisso; uma coisa ser o
rei dos palhaos, outra coisa ser o palhao dos reis. Cf. FERNANDES, Millr. Millr
Definitivo: a Bblia do Caos, p. 233. A quem se dirigia a crtica milloriana? Aos humoristas
televisivos? Aos pseudocrticos palacianos?
101
53
privileged, jesters they have been licensed to do things that other members of the
society could not do with impunity.102
H que se notar que na transio da Idade Mdia para o Renascimento o
riso j estava presente nas manifestaes populares. Se os tempos medievais
foram marcados por tristeza e medo, na Renascena o povo j conquistava uma
postura mais alegre diante da vida. Na poca do Renascimento, o riso possua uma
importncia fundamental na concepo de mundo: era to (ou mais) importante
que a seriedade. Por isso autores como Rabelais, Cervantes e Shakespeare
tratavam de questes universais sem deixar de observar o carter risvel da
realidade. Mil anos de riso popular extra-oficial foram assim incorporados na
literatura do Renascimento103, afirma Bakhtin, notando que pela primeira vez
autores que se voltavam para o no-srio entravam para o rol da alta literatura.
J do sculo XVII em diante essa atitude mudou, pois o riso no foi mais
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
uma forma de ver o mundo. Antes, era um modo de conceber a realidade de forma
parcial, apontando certos aspectos negativos da vida em sociedade. Foi a poca
em que caiu definitivamente a figura do rei cmico, pois as autoridades
precisavam ser srias. O riso assume um lugar de castigo til, como afirma
Bergson, que deve apontar vcios e defeitos dos indivduos inferiores. E na
literatura, se atribui ao riso um lugar entre os gneros menores, que descrevem a
vida de indivduos isolados ou dos estratos mais baixos da sociedade.104 Na
Inglaterra da poca do Iluminismo, comeou a ser difundida a ideia de que as
manifestaes involuntrias do corpo humano teriam de ser controladas. O riso
deveria ser evitado como forma de educao e refinamento. Segundo Quentin
Skinner, o sorriso foi a maneira adotada para que o indivduo se expressasse
reflexiva e desdenhosamente: O que, ento, substitui o riso quando este
suprimido? A resposta (...) aquilo que, em ingls, foi chamado, sem grande
elegncia, de sub-laugh.105
102
HERTZLER, Joyce O. Op. cit., p. 108. [amplamente tolerados, at mesmo privilegiados, os
jesters eram autorizados a fazer coisas que outros membros da sociedade no podiam fazer
impunemente].
103
BAKHTIN, Mikhail. A Cultura Popular na Idade Mdia e no Renascimento: o Contexto de
Franois Rabelais, p. 62.
104
Idem, ibidem, p. 58.
105
SKINNER, Quentin. A arma do riso. Disponvel em <www.uol.com.br/fsp/mais>. Acessado
em 04 ago. 2002.
54
Chegamos a um ponto bem interessante, pois j estamos falando daquele
tipo de riso surgido com a ascenso burguesa, em especial naquela que nos
chegou via sociedade inglesa: o humor. Se traarmos uma linha representando a
posio do riso na sociedade e outra marcando o seu equivalente nas artes,
especificamente a literria, veremos que ambas caminham praticamente coladas.
Se entendermos a literatura como um conjunto de prticas representativas de um
perodo histrico e conjunto de pensamentos determinados, poderemos ver que
essas duas linhas oscilam entre momentos altos e baixos. Na Antiguidade, o
surgimento da comdia nos komoi (aldeia) certifica-lhe um valor representativo
das manifestaes populares, embora sua posio tenha se estabelecido como uma
forma menor. O riso foi condenado na Idade Mdia, mas ascendeu como nunca na
poca do Renascimento. Posteriormente, o Romantismo associou-o melancolia e
a um modo desdenhoso de tratar do seu objeto, no momento que chamamos de
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
primeira fase do humor.
Mas... e no sculo XX? Novamente, o riso atinge uma alta importncia
enquanto manifestao social. Por outro lado, a sua posio dentro das categorias
literrias continua sendo de arte menor, inclusive at os dias de hoje. Esse
paradoxo merece ser investigado porque se relaciona diretamente com as formas
de controle e transgresso existentes na nossa poca. E o humor deve ser ainda
observado diante do seu contrrio: a seriedade que permeia as instituies
estabelecedoras de normas, que formam o conjunto de objetos mais criticados
pelos humoristas cuja obra possui uma inteno marcadamente poltica. quase
desnecessrio afirmar que quanto mais o humorismo tem importncia social,
menos ele reconhecido oficialmente. Ainda a seriedade que determina o que
deve ter mais qualidade e respeito. E a seriedade nunca iria reconhecer aquilo que
se volta fundamentalmente contra ela, ou seja, o humor, por mais genial que seja.
Luiz Felipe Bata Neves, no ensaio j citado, considera a seriedade como uma
ideologia mantenedora do staus quo:
Devemos rir e esquecer. Leituras polticas s devem ser feitas de textos
declaradamente polticos ou de discursos feitos por polticos. (...) A ideologia da
seriedade evoca para si o status de teoria cientfica e, portanto, nica, genrica e
verdadeira. (...) Confunde arrogncia e sisudez com seriedade e responsabilidade
para melhor recalcar o poder corrosivo e libertador que a comicidade pode
carregar.106
106
NEVES, Luiz Felipe Bata. A ideologia da seriedade e o paradoxo do coringa, p. 36.
55
Rir e esquecer o nico comportamento que a seriedade permite. Toda
forma de riso deve ficar no seu lugar devido, que o do divertimento, do
entretenimento, da suspenso voltil e momentnea da postura sria obrigatria
durante o resto do tempo. E como o riso banalizante, qualquer tentativa de
observ-lo deve ser pela perspectiva da seriedade, da teoria cientfica a que se
refere Bata Neves. O humor, atravs da subverso, prope uma nova ordem e, se
lana mo do esquecimento, tem por finalidade fazer esquecer as prprias
convenes da seriedade.
Ora, o esquecimento provocado pelo humor no alienante, como a
seriedade tende a determinar. antes um movimento repentino de projetar-se do
momento presente e, de uma posio distanciada, avaliar aquilo que est sendo
posto em questo, para em seguida retornar com outra conscincia. Esse
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
deslocamento de ir e voltar, tal como uma mola, demonstra que rir um esquecer,
mas um esquecer para lembrar. Esse esquecimento que representa perigo para a
seriedade. Huizinga, no seu Homo Ludens, afirma que a poesia tal como o
humor107 ainda um modo especial de entender a prpria seriedade:
Se a seriedade s pudesse ser concebida nos termos da vida real, a poesia jamais
poderia elevar-se ao nvel da seriedade. Ela est para alm da seriedade, naquele
plano mais primitivo e originrio a que pertencem a criana, o animal, o selvagem
e o visionrio, na regio do sonho, do encantamento, do xtase, do riso.108
Entendendo o riso como uma forma diferente de atingir a realidade,
mesmo a realidade predominantemente sria, temos como prximo passo observar
a maneira como o humor funciona enquanto uma prtica social, e de que modo ele
pode passar de um meio de controle para um mecanismo de transgresso da
ordem.
O humor est presente sob vrias formas na vida moderna. Ao longo de
todo o dia, cada pessoa entra em contato com cenas, situaes, textos orais ou
escritos que se relacionam com o humor. A realidade est impregnada de outra
realidade, que corre ao lado, no paralela, mas s vezes perto e s vezes mais
distante. A realidade humorstica nunca vai tomar o lugar da principal, mas serve
107
Mais uma vez estamos pondo humor e poesia no mesmo patamar, e a associao dos termos
continua fazendo sentido.
108
HUIZINGA, Johan. Homo Ludens, p. 133.
56
como um bom reflexo para que esta se reconhea e se entenda. Fiquem
tranquilos: nenhum humorista atira para matar109, reconhece Millr Fernandes.
Entendendo essa instncia do humor como um outro lugar possvel de ser
construdo a partir das situaes reais, o humorista se coloca numa posio, antes
de mais nada, diferente daquela esperada pela sociedade. Mas h vrias outras
formas de se colocar contra a verdade estabelecida e rejeitar as convenes
sociais: tatuar-se, vestir-se inadequadamente, recusar o registro de linguagem
oficial pelo uso de grias, matar-se etc. De que forma o riso se enquadraria diante
das convenes sociais? Ou, fazendo a pergunta mais especificamente: o que
ento diferencia a atitude humorstica?
Freud, no seu estudo O chiste e sua relao com o inconsciente, afirma
que no fenmeno do riso h um retorno sbito s mesmas condies da infncia,
quando a capacidade ldica humana age de forma livre, antes de ser diminuda ao
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
longo da vida pela aquisio do pensamento crtico. Entendamos o termo
pensamento crtico como o processo natural de passagem para a vida adulta e a
conseqente incapacidade de ver as coisas como novidade: Este prazer vai sendo
proibido cada dia mais pela sua prpria razo, at deix-lo limitado quelas unies
de palavras que formam sentido.110 A suspenso crtica oferecida pelo riso
remeteria a um estado esquecido, no qual palavras e conceitos eram manipulados
como objetos. Rir seria, portanto, uma forma de infantilidade permitida aos
adultos.
Segundo a teoria freudiana, o chiste e o cmico no ocorrem quando entra
em jogo o domnio da emoo. Por outro lado, o humor se origina quando o
homem percebe as suas dores, tristezas e revoltas e se coloca numa posio
superior, como o condenado que, a caminho da execuo olha o tempo e comenta:
Temos um bom comeo de semana. Freud reconhece que o humor no apenas
uma resignao, mas a vitria do princpio do prazer, da alegria que triunfa sobre
a vida. Mas esse prazer seria unicamente voltado para o prprio indivduo que
produz humor, como se o humorista tentasse se defender da sua prpria
conscincia do estado real das coisas:
S considerando o deslocamento humorstico como processo de defesa
poderemos estabelecer algumas concluses sobre ele. Os processos de defesa so
109
110
FERNANDES, Millr. Millr definitivo: A Bblia do Caos, p. 233.
FREUD, Sigmund. O chiste e sua relao com o inconsciente, p. 122.
57
os que no psiquismo correspondem aos reflexos de fuga e sua misso evitar o
aparecimento de desprazer produzido por fontes internas.111
Talvez por essa capacidade de lidar com o estado interior de si mesmo, o
humorista tenha socialmente uma funo no de fuga, mas de desmascaramento.
Para Pirandello, o socilogo seria responsvel pela descrio da vida social a
partir de observaes exteriores, enquanto o humorista, armado com a sua arguta
intuio, revela como as aparncias so profundamente diferentes do ser ntimo na
conscincia dos associados.112 Se observarmos a atitude humorstica pela sua
capacidade de entrar na conscincia social e dissolver as aparncias sugeridas
pelo mundo exterior, valeria a pena rever alguns pontos da viso de Bergson, para
quem o riso assume funo predominantemente social. Alguns pontos do ensaio O
Riso, no entanto, devem ser observados inclusive pela sua inaplicabilidade, se
estivermos tratando do humor do sculo XX, porque o humor, embora seja uma
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
forma de expresso derivada do riso, no responde da mesma forma s definies
de Bergson com relao comicidade. Vejamos essas contradies.
A ideia principal da teoria bergsoniana a de que a sociedade exige do
indivduo uma elasticidade de corpo e esprito. Uma vez que ela, a sociedade, est
em constante mudana, o homem deve estar todo o tempo acompanhando-a. E se
a sociedade composta por inteligncias, ou seja, por indivduos capazes de
discernir entre o que so as regras sociais e o que est fora delas, o riso ocorre
sempre que algum, por desateno, ou ausncia daquela elasticidade, age
mecanicamente, por automatismo, descaracterizando o que seria prprio da vida
social: a flexibilidade. A pessoa de gestos previsveis, agindo de acordo com
esteretipos, faria lembrar um ser mecnico, e tambm suscitaria o riso. Toda
fora dissolvedora da espontaneidade humana provocaria o riso, pois faria da
sociedade o que nos palcos de comdias se faz ao extremo, sendo focalizado como
objetivo principal.
A comicidade das palavras se d quando o efeito cmico ocorre na prpria
lngua, diferindo dos outros tipos em que so apenas expressos por ela. Seria o
caso da utilizao de frmulas consagradas, como provrbios ou frases usadas
mecanicamente durante certo perodo (o que chamamos bordo). Mas eles
111
112
Idem, Ibidem, p. 239.
PIRANDELLO, Luigi. Op. cit., pp. 157-58.
58
sozinhos no geram efeito cmico. O contexto deve ser propcio para que se
desencadeie a comicidade, dando a impresso de que, por deslocamento, ou falta
de ateno, a sentena estaria mal colocada, como o ateu que afirma
decididamente seu agnosticismo, completando com um graas a Deus. Bergson
se refere aos trocadilhos e ao uso da linguagem prpria num contexto de
linguagem figurada como possibilidades cmicas, alm do automatismo presente
nas frases feitas, que se enquadrariam no fulcro da sua teoria (o mecnico
aplicado sobre o humano). De fato, algumas variaes so frequentemente usadas
por humoristas, como por exemplo modificar alguns fonemas de uma forma
consagrada e criar um outro dito popular, naquilo que os linguistas chamam de
imagem rejuvenescida. o que Millr realiza na frase A ociosidade a me de
todos os vices113. Este ltimo exemplo teria aquela caracterstica que atribumos
ao humorismo anteriormente, no que se refere a entrar na essncia das coisas e
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
trazer uma viso nova, mergulhando e trazendo tona uma nova possibilidade de
significao. Ou, nas palavras de Deleuze:
preciso que, pelo mesmo movimento graas ao qual a linguagem cai do alto,
depois se afunda, sejamos reconduzidos superfcie, l onde no h mais nada a
designar, nem mesmo a significar, mas onde o sentido puro produzido:
produzido na sua relao essencial com um terceiro elemento, desta vez o nosenso da superfcie.114
A nova proposio (me de todos os vices) seria o resultado do encontro
entre um sentido anterior (o apotegma como geralmente pronunciado: a
ociosidade a me de todos os vcios) e uma crtica ao sentido social de vices.
O entendimento humorstico que diferente do entendimento puro e simples
necessitaria do conhecimento prvio do dito popular e da ociosidade caracterstica
de quem, segundo Millr, ocupa um cargo de vice; e tambm de uma terceira e
imprescindvel atitude, que a de se colocar diante da nova frase com um olhar
buscando novidade. Teramos ento essa polaridade contida num mesmo gesto. O
riso humorstico tem como requisito um saber, ao passo que necessita tambm de
um no-saber, de uma espcie de acordo nesse jogo da linguagem, exigindo do
leitor uma carga de conhecimento e uma predisposio a aceitar uma nova forma.
Esse tipo de observao uma das lacunas do ensaio de Bergson com relao
113
114
FERNANDES, Millr. Op. cit., p. 335.
DELEUZE, Gilles. Op. cit., p. 138.
59
comicidade da linguagem, que seria extremamente necessria por se relacionar
com uma outra forma de recepo do ato risvel. Parece que o ensaio se volta mais
para as causas do riso no ambiente social, e suas funes eminentemente
negativas como sano s fugas das normas. O exemplo de Millr, claramente
humorstico, no se enquadraria to bem nas definies bergsonianas por buscar
justamente transgredir uma regra de linguagem j fixada na forma de uma frase
congelada pelo uso contnuo.
Segundo Bergson, as situaes cmicas derivam da necessidade de
corrigir os automatismos. Nesse caso, no mbito social o riso determinaria que
aquele de quem se ri est numa posio inferior com relao a quem ri. Ou,
segundo Propp: Ri o sbio do tolo: se quem ri o tolo, porque nesse momento
ele se considera mais inteligente do que aquele de quem ri.115 O sentido de
superioridade daquele que ri est presente em toda uma corrente de estudos.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Segundo o norte-americano John Morreall, as ideias de Plato, Aristteles e
Hobbes se enquadrariam nessa categoria, pois o riso para esses autores usado
com a finalidade de um indivduo sentir-se superior quele de quem ri.
No entanto, essa teoria no to eficaz, pois existem vrios casos de riso
que no envolvem sentimento de superioridade. s vezes ri-se concordando, e no
discordando. Socialmente, o riso tambm pode ser uma forma de se mostrar mais
amigvel116. Tal ideia no d conta do que provoca o riso, mesmo considerando-o
como uma necessidade fundamentalmente social. Pode-se rir de si mesmo por
vrios motivos. Mas pode-se rir com outros (por diverso, amabilidade, para
quebrar barreiras, compartilhar um divertimento, para convidar para participarem
de um divertimento). E tambm ri-se para outros (para chamar ateno, encorajar,
aprovar, ser simptico ou emptico, autodefender-se, alertar para algum perigo).
bvio que tambm rimos contra os outros (expressando superioridade, stira,
115
PROPP, Vladmir. Op. cit., p. 180.
No livro Comicidade e Riso, Propp cita R. Iurniev, terico e historiador sovitico da comdia
cinematogrfica: O riso pode ser alegre ou triste, bom e indignado, inteligente e tolo, soberbo e
cordial, indulgente e insinuante, depreciativo e tmido, amigvel e hostil, irnico e sincero,
sarcstico e ingnuo, terno e grosseiro, significativo e gratuito, triunfante e justificativo,
despudorado e embaraado. Pode-se ainda aumentar esta lista: divertido, melanclico, nervoso,
histrico, gozador, fisiolgico, animalesco. Pode ser at um riso ttrico! Apud pp. 27-28. Vemos
ento que o riso, enquanto fenmeno do corpo, pode expressar toda uma diversidade de estados e
sentimentos. Da que no seja simples responder grande questo sobre o assunto: De que
rimos? Poderamos responder, em tom quase irnico: De tudo, dependendo da perspectiva. Ou
quase tudo.
116
60
sarcasmo, rejeio ou ridicularizao), mas esse apenas um aspecto do riso na
prtica social.
Se focalizarmos nossa anlise no humorismo, veremos que a teoria de
Bergson se mostra insuficiente para uma observao do nosso tempo, justamente
no que ela tem de mais caracterstico, que a sua aplicao dentro da vida social.
A ideia de que a sociedade requer indivduos de pensamento flexvel no muito
coerente se observarmos a histria do ltimo sculo e neste princpio de novo. A
consolidao da cultura miditica (antes chamada de cultura de massa, como na
definio de Muniz Sodr) requer exatamente o contrrio, que todos tenham um
comportamento similar, baseados em esteretipos e segmentos de mercado. Em
outras palavras, notamos que o ltimo sculo foi marcado pelo reforo e
consolidao da mecanizao. Poderamos facilmente encontrar exemplos
contendo fundamento anti-bergsoniano: ri-se daquele que se recusa a participar do
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
mundo mecanizado. Pois a sociedade de consumo miditica deste princpio de
sculo XXI preconiza um comportamento previsvel, um conjunto de atitudes
padronizadas em sistemas de consumo controlados. E mesmo o humor vem se
tornando algo que pode ser fagocitado por esses sistemas. Tomemos o exemplo
dos jornais humorsticos Planeta Dirio e Casseta Popular, surgidos no
movimento da imprensa alternativa, ainda em incio da dcada de 1980.
Posteriormente, os jornais se uniram para a criao de uma revista (Casseta &
Planeta), cujos integrantes passaram a ser redatores de humor na TV, e em
seguida tiveram o seu prprio programa. O sucesso desse programa atraiu
anunciantes voltados para as classes mais populares, de maneira que foi exercida
constante presso para que o nvel de piadas fosse pouco elaborado para atender
a essa classe social, de modo que ao fim o programa foi cancelado da grade, por
descontentamento dos humoristas.117
Trata-se, portanto, de um tipo de sistema ditatorial de mercado. E contra
essa ausncia de liberdade de pensamento que o humor se volta, da o novo limite
que os humoristas tm ao se depararem com esses contextos controladores. Com
isso, o humor pretende uma nova viso daquilo que a sociedade s v de uma
117
Depoimento do componente do grupo Marcelo Madureira no projeto Encontros Literrios (A
crnica de humor), realizado pela prefeitura do Rio de Janeiro em 11/11/2011.
61
perspectiva, enquanto que, segundo Bergson, deve-se rir para evitar essa fuga das
regras. O riso bergsoniano o riso de controle; o humorstico de transgresso.
Essa posio se caracterizaria justamente para revelar o que h de falsa
verdade no mundo oficial, regido por normas. Para Gregor Benton, as piadas
contm uma liberdade a que a linguagem oficial no se permite. Para ele, jokes
are vivid and sparkling; official language is tired and lusterless. Jokes are
incorruptible, and true even when false; official language lies as a matter of
necessity and routine.118 Embora a comparao seja maniquesta, uma vez que
nem sempre a linguagem oficial to sem brilho e mentirosa, merece a nossa
ateno pelo fato de que usa o termo linguagem oficial no como o registro
formal da linguagem, mas como a linguagem do governo. Essa ideia abre
caminho para que possamos seguir adiante, na medida em que para onde mira o
humor poltico, assunto sobre o qual nos cabe discorrer com mais ateno a
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
seguir.
118
BENTON, Gregor. The origins of the political jokes. In: POWELL, Chris & PATON, George
E. C. (org). Humour in society: resistance and control, p. 39. [as piadas so vvidas e cintilantes;
idioma oficial est cansado e sem brilho. Piadas so incorruptveis, e verdadeiras at mesmo
quando falsas; o idioma oficial mente por necessidade e rotina].
62
3
Emlio de Menezes: chuva cida na Blle poque
3.1 O riso mal du sicle: um clice de spleen
Desde o bero da poesia brasileira, a presena do humor perceptvel. Se
as comdias surgiram paralelamente s tragdias, numa espcie de necessrio
contraponto original, o surgimento de uma poesia traz naturalmente sua sombra
risvel. No nosso caso, Os Lusadas serviu de mote para as nossas primeiras
manifestaes risveis sob a forma de verso. Para Gilberto Mendona Teles, cuja
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
acurada pesquisa sobre a influncia camoniana na literatura brasileira listou uma
volumosa produo de pardias, pastiches e apropriaes de textos "oficiais", o
grande pico da lngua portuguesa foi base do nosso humor:
Uma histria do humorismo e da stira na poesia brasileira pode ser mais ou menos
delineada atravs da influncia camoniana que, dezoito anos depois da publicao
de Os Lusadas, j comeava a gerar discursos paralelos, em forma de pardia,
numa srie que tanto em Portugal, como no Brasil e nos pases africanos de lngua
portuguesa esteve sempre a servio da "subverso" (poltica ou cultural)...119
Ainda que se proclame o humor como uma caracterstica potica
predominante apenas aps a Semana de Arte Moderna de 1922120, por meio dessa
influncia camoniana ele esteve presente na obra de autores como lvares de
Azevedo, autor da pardia intitulada Bengaleida; inmeras stiras de autores
menos conhecidos, como Pedro Antnio Gomes, com a sua Florianeida, de 1893;
ou mesmo Machado de Assis - este com traos de humor mais fortes na prosa, sob
influncia direta e inequvoca do humour ingls e da stira menipeia121 -, mas
perceptivelmente no seu inacabado poema heri-cmico O almada. Esse tipo de
poema narrativo, voltado para o humor, o resultado de um contraste
entre
119
TELES, Gilberto Mendona. Cames e a poesia brasileira. p. 386.
Essa relao pode ser bastante representada no poema-piada de Oswald de Andrade "AMOR /
humor". ANDRADE, Oswald. Primeiro caderno de poesia do aluno Oswald de Andrade. p. 21.
121
Sobre esta ltima, ressalta-se o trabalho de Enylton de S Rego: O calundu e a panaceia:
Machado de Assis, a stira menipia e a tradio lucinica.
120
63
personagens principais em aes pouco expressivas, porm escritas em linguagem
rebuscada. Faz contraponto epopeia escrita em linguagem sublime e elevada,
mas com aes nobres tomadas por heris eivados de virtude e fora e astcia.
Esse tributo camoniano to presente na nossa literatura at fins do sculo
XIX abriu caminho no o qual o humorista e o poeta se tornariam um ser relevante,
com predominncia do primeiro. No incio do sculo XX, o humor encontrou na
poesia a forma perfeita de expresso. No vamos aqui adentrar na larga tradio
de pardias e variantes do riso encontradas em vrios poetas brasileiros e
portugueses122, mas nesse perodo tambm conhecido como Belle poque. Ainda
com grande influncia do Parnasianismo, a produo potica dessa poca buscava
a perfeio do verso, o diamante da palavra encaixado perfeitamente no anel do
soneto, a forma potica que se tornou clssica por excelncia. Essa grandeza em
termo de estrutura cairia feito uma luva para o humor, pois o deslocamento
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
abrupto entre a forma e o contedo uma das estratgias mais conhecidas para se
produzir o riso. Da que o soneto e outras formas clssicas tenham sido
caracterstico da produo humorstica desse perodo. Vejamos esse incio do
longo poema (1102 estrofes e 8816 versos!) Bromiladas, de Bastos Tigre,
publicado na revista D. Quixote entre 1918 e 1922, voltado para promover o
xarope Bromil:
Os homens de pulmes martirizados
Que, de uma simples tosse renitente,
Por contnuos acessos torturados
Passaram inda alm da febre ardente;
Em perigos de vida atormentados,
Mais de quanto capaz um pobre doente,
Entre vrios remdios encontraram,
O Bromil que eles tanto sublimaram.123
Esse poema simboliza no s um tipo novo de poesia, mas tambm de
poeta-humorista: aquele que se profissionaliza na mdia impressa - e futuramente
radiofnica - como um redator publicitrio. O poeta capaz de promover uma
122
O rol dessa tradio, especialmente interessante por revelar que a literatura dita sria suscita
com grande frequncia uma contraparte risvel, pode ser encontrado em TELES, Gilberto
Mendona. Cames e a poesia brasileira. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2001.
123
TELES, Gilberto. Op. Cit.. P. 397. Segundo o professor, esse pastiche foi to eficaz e influente
que outro jornal do Recife, A Pilhria, publicou um semelhante intitulado Ascariladas, a fim de
promover um remdio contra a anquilostomose - doena popularmente conhecida como
"amarelo".
64
marca com sua pena contratado por uma empresa, ao mesmo tempo em que
continua a circular pela vida bomia carioca, gozando de prestgio e fama, e
muitas vezes temido por sua verve ferina.
A transio do humor romntico para o humor "de mercado" do sculo XX
deve ser observada com maior ateno, pois segue concomitantemente s
mudanas ocorridas nas sociedades no mesmo perodo. Alguns traos se
mantiveram, outros se modificaram, acabando por dar ao humorismo uma
autonomia que o destaca de outras formas derivadas do riso124. A posio na qual
o humorista se coloca para analisar o mundo, por exemplo, seria decorrente de um
sentimento de mal-estar, iniciado no Romantismo e agravado no sculo XX. O
terico alemo Jean Paul Richter j havia feito a distino entre o cmico clssico
e o cmico romntico: enquanto o primeiro era marcado pela stira vulgar e o
escrnio sobre vcios e defeitos, sem nenhuma comiserao ou piedade, no
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
segundo j entra o humor, que para ele uma mescla de dor e riso filosfico,
passvel de tolerncia e simpatia125.
Na caracterizao da literatura romntica surge com frequncia o termo
spleen. Ele designava o estado de esprito bem peculiar do escritor da poca,
voltando-se para um subjetivismo extremo, uma evaso, um tdio auto irnico. No
Brasil, as influncias que Byron e Musset (representantes europeus desses traos)
exerceram sobre os poetas jovens foi tamanha que a historiografia literria reserva
para estes um momento distinto do Romantismo, chamado por muitos de segunda
fase ou segunda gerao, ou Ultrarromantismo. lvares de Azevedo, maior
representante dessa vertente, adotou o sarcasmo e a autodestruio como meios de
trabalhar a temtica do amor idealizado, vultos misteriosos, mulheres do cu que
nunca se materializavam. Alfredo Bosi acredita que essas caractersticas so
desfiguraes todas de um desejo de viver que no logrou sair do labirinto onde
se aliena o jovem crescido em um meio romntico-burgus em fase de
estagnao.126
124
Pirandello, por exemplo, estabelece essa diferena entre as atividades: Para muita gente,
escritor humorstico o escritor que faz rir; batiza-se como humorismo o cmico, o burlesco, o
satrico, o grotesco, o trivial; a caricatura, a farsa, o epigrama, o calembur, como por hbito se
costuma chamar romntico tudo o que h de mais arcdico e sentimental, de mais falso e barroco.
Op. cit., p. 22.
125
Cf PIRANDELLO, Luigi. Op. cit., p. 34.
126
BOSI, Alfredo. Histria concisa da literatura brasileira, p. 120.
65
Observando a etimologia de spleen, notamos que ele chegou a ser usado
com acepo dupla. Na Frana, era usado para designar manifestaes excessivas
de humor127. O termo, originariamente ingls, significa bao, rgo cuja funo,
segundo a medicina do sculo XIX, era responsvel pela melancolia. Por extenso
de sentido, passou a significar mau humor, enfado e a prpria melancolia. No
caso, predominou a conotao negativa da palavra spleen, embora humor tenha
recebido posteriormente um sentido bem mais positivo.
Cabe notar que uma dualidade presente na obra de lvares de Azevedo se
relaciona, de certo modo, com a ambivalncia que seria prpria do humor: a
coexistncia da morte e da vontade de viver, a candura angelical e a ironia
corrosiva. Sob esse aspecto so notados, simultaneamente, o sentimento em
conflito com a ausncia de sentimento, a emoo e a impassibilidade contidas
numa mesma atitude. Esse ocultamento do sentido trgico sob a capa do humor PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
que serve muito como autoironia para justificar e reforar as idealizaes -
percebido no poema "O poeta moribundo":
Poetas! amanh ao meu cadver
Minha tripa cortai mais sonorosa!...
Faam dela uma corda, e cantem nela
Os amores da vida esperanosa!
Cantem esse vero que me alentava...
O aroma dos currais, o bezerrinho,
As aves que na sombra suspiravam,
E os sapos que cantavam no caminho!
Corao, por que tremes? Se esta lira
Nas minhas mos sem fora desafina,
Enquanto ao cemitrio no te levam
Casa no marimbau a alma divina!
Eu morro qual nas mos da cozinheira
O marreco piando na agonia . . .
Como o cisne de outrora... que gemendo
Entre os hinos de amor se enternecia.
Corao, por que tremes? Vejo a morte
Ali vem lazarenta e desdentada. ..
Que noiva!. . . E devo ento dormir com ela?. ..
Se ela ao menos dormisse mascarada!
127
Cf. Dicionrio eletrnico Houaiss da lngua portuguesa.
66
Que runas! que amor petrificado!
To antediluviano e gigantesco!
Ora, faam ideia que ternuras
Ter essa lagarta posta ao fresco!
Antes mil vezes que dormir com ela,
Que dessa fria o gozo, amor eterno. . .
Se ali no h tambm amor de velha,
Dem-me as caldeiras do terceiro Inferno!
No inferno esto suavssimas belezas,
Clepatras, Helenas, Eleonoras;
L se namora em boa companhia,
No pode haver inferno com Senhoras!
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Se verdade que os homens gozadores,
Amigos de no vinho ter consolos,
Foram com Satans fazer colnia,
Antes l que no Cu sofrer os tolos!Ora! e forcem um'alma qual a minha
Que no altar sacrifica ao Deus-Preguia
A cantar ladainha eternamente
E por mil anos ajudar a Missa! 128
O riso traduz o desencanto com o mundo, apelando at para os animais
dceis (aves, sapos e at o bezerrinho, com a nfase no diminutivo) so mote para
serem cantados ao som da vscera do poeta. Aqui perceptvel o duplo em que o
eu-lrico se coloca, numa cena que evoca dois animais diferentes em sua
simbologia: um marreco, mais vulgar, e o cisne que entoava hinos de amor. Mas
cabe notar que se trata de uma cena de contraste, na qual apresentada uma cena
cotidiana de uma empregada matando uma ave real para consumo, e um cisne que,
via prosopopeia, canta o amor. O cisne, convm mencionar, traz toda uma
simbologia de preciosismo e beleza. Na Grcia Antiga, essa ave acompanhava
Apolo, alm de ter sido o disfarce de Zeus para perseguir Leda. A esse cisne, "de
outrora", lvares de Azevedo se remete. A juno desses dois animais cria um
conflito satrico com o qual o poeta se coloca no mundo.
128
AZEVEDO, lvares de. Lira dos vinte anos. p. 178.
67
A ironia do poeta diante do mundo que o espera tamanha que situa no
inferno as musas clssicas da histria: Clepatra, Helena e Eleonora, musa do
poeta renascentista Torquato Tasso (1544-1595) e cujo nome seria dado a uma
personagem do livro Noite na Taverna, de lvares de Azevedo. Os versos l se
namora em boa companhia, / no pode haver inferno com Senhoras mais uma
vez consegue unir o humor e a idealizao, uma vez que o prprio inferno deixa
de ser inferno com a presena dessas figuras femininas to fortes e sublimes.
No poema ela! ela! ela!, Azevedo aplica a ironia em torno da
mulher desejada de modo singular, mesclando as qualidades fsicas desse objeto
de desejo a comparaes inusitadas e cenas risveis:
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
ela! ela! - murmurei tremendo,
E o eco ao longe murmurou - ela!
Eu a vi... minha fada area e pura A minha lavadeira na janela!
Dessas guas-furtadas onde eu moro
Eu a vejo estendendo no telhado
Os vestidos de chita, as saias brancas;
Eu a vejo e suspiro enamorado!
Esta noite eu ousei mais atrevido
Nas telhas que estalavam nos meus passos
Ir espiar seu venturoso sono,
V-la mais bela de Morfeu nos braos!
Como dormia! Que profundo sono!...
Tinha na mo o ferro do engomado...
Como roncava maviosa e pura!...
Quase ca na rua desmaiado!
Afastei a janela, entrei medroso...
Palpitava-lhe o seio adormecido...
Fui beij-la... roubei do seio dela
Um bilhete que estava ali metido...
Oh! de certo... (pensei) doce pgina
Onde a alma derramou gentis amores;
So versos dela... que amanh de certo
Ela me enviar cheios de flores...
Tremi de febre! Venturosa folha!
Quem pousasse contigo neste seio!
Como Otelo beijando a sua esposa,
Eu beijei-a a tremer de devaneio...
ela! ela! - repeti tremendo;
Mas cantou nesse instante uma coruja...
68
Abri cioso a pgina secreta...
Oh! Meu Deus! Era um rol de roupa suja!
Mas se Werther morreu por ver Carlota
Dando po com manteiga s criancinhas
Se achou-a assim mais bela - eu mais te adoro
Sonhando-te a lavar as camisinhas!
ela! ela! meu amor, minh'alma,
A Laura, a Beatriz que o cu revela...
ela! ela! - murmurei tremendo,
E o eco ao longe suspirou - ela!129
Assim como em O poeta moribundo, aqui o poema composto por dez
quartetos, cada um decassilbico, extenso na qual lvares de Azevedo baseou
boa parte de sua potica, sob influncia clssica quanto forma. Os quarenta
versos constituem tamanho suficiente para conter uma breve narrativa, ainda que
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
o poeta se tenha dedicado apenas a rimar os versos pares, de modo a manter uma
fluidez simples e ldica.
A musa que o eu-lrico vislumbra e idealiza rapidamente ainda na
primeira estrofe se revela uma simples lavadeira. Note-se que a inteno risvel
do poema j se afirma novamente no incio da segunda estrofe, pelas imagens
que o poeta associa na fuso do seu objeto que a lavadeira (musa) com dessas
guas-furtadas onde eu moro, fazendo com que o elemento gua surja quase
como um trocadilho. As guas furtadas, janelas do alto de uma construo,
determinam tambm a perspectiva (alta e isolada) de onde o poeta vislumbra
enamorado a sua amada, ento inacessvel.
Note-se que a grande ousadia de se aventurar pelos telhados no se
justifica para um encontro real com a lavadeira: apenas para espi-la no sonho.
Essa lavadeira, adormecida e distante, tocada apenas no momento do sonho,
representa claramente a musa inebriada que surge na obra de lvares de
Azevedo. A cena descrita a seguir, permeada de perigo e descoberta, com um
beijo roubado, assim como roubado seria um poema do seio da amada dormente,
apenas serve para se converter em mais uma situao risvel, pois a folha
apenas uma relao de roupas sujas.
Ainda assim, o poeta compara sua lavadeira a outras musas clssicas, a
Laura de Francesco Petrarca (1304-1374) e a Beatriz de Dante Alighieri (1265129
AZEVEDO, lvares de. Lira dos vinte anos. P. 99.
69
1321), num impulso de mant-la entre num estado superior de adorao. Essa
postura quase quixotesca e debochada, respingada de tons soturnos e lgubres,
configurava um modo inusitado de se tratar a poesia.
Silvio Romero, na sua Histria da Literatura Brasileira, chega a afirmar
que lvares de Azevedo foi o pioneiro a lanar mo desse novo tipo de humor:
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
O humorismo tambm novo, e a primeira vez que aparece na poesia
brasileira essa bela manifestao da alma moderna. Convm no confundir o
humour com a chalaa, a velha pilhria portuguesa: essa tivemo-la sempre, e
sempre a possui o reino. O humour inglesa e alem ns no o cultivamos
jamais, nem Portugal tampouco. O primeiro que o exprimiu em nossa literatura
foi lvares de Azevedo, profundamente lidos nas literaturas do Norte. O
humour diverso da vis comica, do esprito e da stira, ainda que possa ter com
eles alguma analogia. A comdia o riso com certa malignidade; o esprito a
graa, a pilhria para divertir; a stira um castigo empregado como tal,
mostrando clera. O humour uma especial disposio da alma que procura em
todos os fatos o lado contrrio, sem indignao. Requer finura, fora analtica,
filosofia, ceticismo e graa num mixtum compositum especialssimo, que no
anda por a a se baratear. Azevedo o possui at certo ponto.130
Dcadas frente, durante o Modernismo, o cotidiano voltaria a tomar
lugar no terreno sagrado e oficial da lrica, como proposta indissocivel das
temticas e como recursos de construo potica. Nesse sentido, o apego ao
comezinho, s miudezas e banalidades presentes na potica de lvares de
Azevedo antecipou a dico de um Drummond e um Bandeira. Ao privilegiar o
discurso humorstico, o projeto deliberado dos modernistas de revisita aos
romnticos, nesse aspecto, trouxe para o centro algo que, no sc. XIX, surgia
como uma manifestao secundria entre os poetas, mais como recurso resultado
de influncias exteriores do que como uma proposta deliberada de afirmao de
uma potica nacional.
O crtico Jos Verssimo, na sua icnica Histria da literatura brasileira,
apontava em lvares de Azevedo um modelo de uma potica voltada para o riso
amargo, para o humor resignado:
Dessa ironia ele o nico exemplar na nossa poesia, como seria o instituidor nela
essa desesperao e descrena. De tal estado dalma lhe veio, com o nmio
subjetivismo, o sentimento ora acerbo, ora zombeteiro, da vida, e a carncia ou a
pobreza de impresses da natureza ou da sociedade na sua poesia.131
130
ROMERO, Silvio. Histria da literatura brasileira. pp. 280.281.
131
VERSSIMO, Jos. Histria da literatura brasileira. P. 134.
70
J no sculo XX, a modernidade pedia outro tipo de stira, livre dos
idealismos ntimos, situado na vida bomia com aspectos europeus recentemente
digeridos. O poeta no mais um nefelibata que se fecha mais no seu mundo
utpico de desejos irrealizveis, mas se torna um dndi, caminha para ser visto e
consumido na efervescncia urbana, vendendo seus versos para lubrificar as
engrenagens de uma sociedade em amplo desenvolvimento. E foi nesse contexto
que surgiu a produo potica e humorstica de Emlio de Menezes (1866-1918),
especialmente aquela do livro pstumo Mortalhas (1924), organizado pelo
tambm humorista Mendes Fradique (1893-1944), alm de Poesia satrica e
versos de circunstncia (publicada na sua Obra completa, de 1980).
Ridendo castigat moris. O provrbio latino amplamente conhecido poderia
ser facilmente aplicado como lema para o poeta curitibano Emlio de Menezes.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Nascido em 1866, mudou-se para o Rio de Janeiro aos 18 anos. Na capital,
encontrou o ambiente propcio para criar sua obra potica enquanto vivia com
pouca moderao a boemia carioca. Aproximou-se dos intelectuais e, tal como
grande nmero de escritores da poca, trabalhou como jornalista. Ainda que tenha
publicado livros de poemas (como Marcha fnebre, em 1891, e Poemas de morte,
em 1901) bem recebidos pela crtica, tornou-se conhecido e assim permaneceu
pela verve humorstica com que escrevia em jornais, atacando polticos, artistas
ou comentando fatos protagonizados por personalidades.
Essa produo, reunida no livro Mortalha os deuses em ceroulas, trouxe
um retrato da produo humorstica de Menezes. Esse poeta foi, em essncia,
irreverente. Ou seja, no se curvou com reverncias aos polticos, socialites e
mesmo os colegas escritores. Afrnio Peixoto, na antologia Humour, em que
apresentou um apanhado de textos comentados sobre as facetas humorsticas de
vrios escritores de vrias lnguas, com destaque para os brasileiros, definiu
Menezes, situando-o no mesmo rol do Boca do Inferno: Teve fama e dava medo,
Gregrio de Matos. Como a vida era solta, a ntima e a da rua, na licena dos
cafs e cervejarias, tmidos uns o adulavam, e outros fugiam dele.132
132
PEIXOTO, Afrnio. Humour, p.191.
71
De certa forma, a utilizao de vrios pseudnimos, recurso tpico da
imprensa nas primeiras dcadas do sculo XX, contribuiu para que o nome do
poeta, ainda que no aparecesse diretamente, se espalhasse num estilo sardnico
reconhecvel. Alguns desses clones autorais distribuam a poesia galhofeira de
Emlio na imprensa: Gaston d'Argy, Zango, Nefito, Mestre Cook, Peixo
Afroito, Tigrem lio, Carmen da Silva, Emlio de Miranda Neto e mais algumas
autorias coletivas como Cirano & Cia, da Seo Pingos e Respingos do jornal
Correio da Manh.
Um pequeno fato que culminou num poema ilustra bem como a obra
humorstica de Menezes era construda. Consta que, pela qualidade dos seus
versos, estaria cotado para a Academia Brasileira de Letras desde a fundao. Mas
Machado de Assis, passando por um bar com outros intelectuais, viu uma foto do
poeta na parede, com um chope na mo e uma grande barriga exposta, ao que
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
sentenciou: No dia em que o tivermos, no ser mais um salo da Academia,
apenas um botequim.133 O escritor e diplomata pernambucano Oliveira Lima
(1867-1928), desafeto, era um dos que se opunham entrada de Emlio de
Menezes na ABL e por duas vezes se esforou para eliminar a candidatura. Na
segunda, Menezes o fulminou com o soneto O Plenipotenciario Da Facndia:
De carne mole e pele bambalhona,
Ante a prpria figura se extasia,
Como oliveira - ele no d azeitona,
Sendo lima - quase melancia.
Atravancando a porta que ambiciona,
No deixa entrar nem entra. uma mania! Dolhe por isso a alcunha brincalhona
De pra-vento da diplomacia.
No existe exemplar na atualidade
De corpo tal e de ambio tamanha,
Nem para intriga igual habilidade.
Eis, em resumo, essa figura estranha:
Tem mil lguas quadradas de vaidade
Por centmetro cbico de banha!134
133
134
Idem. P. 192.
MENEZES, Emlio. Mortalhas. P. 28.
72
O soneto realiza com mestria a feita humorstica de unir a materialidade
risvel do seu objeto de escrnio, que no caso a adiposidade de Oliveira Lima, s
caractersticas morais desse mesmo sujeito. O soneto com decasslabos heroicos,
forma com que Menezes produziu a maior parte de sua obra, escrito com tal
naturalidade que, em comparao com o verso tipicamente parnasiano, soa
quase... prosaico. Essa aproximao abrupta do elevado com o cotidiano, do
abstrato ao concreto, do srio ao risvel, faz com que o soneto satrico tenha se
tornado uma arma poderosa.
Emlio se expressou poeticamente pelo soneto na maior parte da sua obra.
Essa forma (e frma) potica vigorava na poca como principal meio de expresso
potica. Ainda que pouco utilizado no Romantismo, os parnasianos tinham os
quatorze versos como principal molde de criao literria, assim como os
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
simbolistas. Desse modo, seria natural que o poeta iniciasse a sua produo nessa
categoria, que marcou o formato dos seus primeiros livros. Marcha fnebre, de
1892 (sob o pseudnimo de Emlio Pronto da Silva), totalmente composto por
sonetos decassilbicos, enquanto Poemas de morte, de 1901, aposta nos sonetos
com versos um pouco maiores, os alexandrinos (12 slabas). Ainda que o tom
mrbido desses primeiros livros parecesse associar a potica de Menezes a
temticas ultrarromnticas, paralelamente o poeta utilizava o soneto para exercitar
a sua stira, o que acabou se tornando sua maior marca.
No se tratava, claro, de uma descoberta, visto que a poesia e o soneto
especificamente j haviam sido utilizado com fins humorsticos em outras
ocasies. Historicamente, o soneto passou por diversas etapas antes de chegar a
esse momento de veio crtico da belle poque. Cabe, portanto se pensar um pouco
sobre essa forma potica como meio para a manifestao potica e humorstica.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
73
3.2 Soneto: o fraque da poesia humorstica
O soneto uma das formas poticas mais conhecidas e relevantes na
histria da literatura. Com sete sculos de existncia, nunca deixou de estar
presente em todos os momentos e movimentos da arte da palavra.
Tem-se notcia de que o primeiro soneto foi escrito na Itlia, por volta do
sculo. XIII. Ainda que no exista certeza da identificao do primeiro sonetista,
as especulaes recaem com mais fora para o siciliano Giacomo da Lentino
(1180/1190?-1246?). Coube a Fra Guittone dArezzo (1230-1294), no entanto, o
estabelecimento da estrutura do soneto que chegou at hoje. Sobre essa questo
formal do soneto, trataremos mais adiante. Dante Aliguieri (1265-1321) foi o
primeiro grande poeta a compor, mas o toscano Francesco Petrarca (1304-1374)
popularizou o soneto no que se refere a contedo, dando-lhe o toque lrico com o
qual essa forma potica se tornou conhecida na Europa e no restante do mundo.
74
Segundo Vasco de Castro Lima, h uma teoria francesa segundo a qual o
soneto foi criado em Provena pelo trovador Girard de Bourneuil, no sculo XIII.
A tese francesa derrubada pelo fato de que no h registros de que o soneto
fosse conhecido naquelas terras, sendo levado at l apenas no sculo XVI pelos
italianos Mellin de Saint-Gelais (1487-1558) e Clement Marot (1496-1544)135. As
maiores evidncias, no entanto, recaem sobre a autoria italiana. O termo soneto
italiano por si s j torna insuspeita essa origem.
O termo soneto, do italiano sonetto, significa pequena msica. Consta
tambm a origem do provenal sonet, de som, melodia, cano136. Poesia e
msica s teriam autonomia esttica mais tarde, de modo que o soneto nasce
tipicamente como uma forma ligada aos jograis e menestris, que recitavam
poemas com forte dependncia instrumental. Uma pequena msica, pois.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Podemos, aqui, levantar uma primeira hiptese sobre a permanncia do
soneto: essa relao com a msica poderia torn-lo um paralelo da arte dos
trovadores, cujos poemas curtos, em especial a quadra (ou trova) formada por
heptasslabos na sequncia abab, tambm se tornaram to populares que
constituem uma referncia at hoje quando se fala em poesia, mesmo para os no
iniciados. Alm desse carter popular, o soneto constitui uma forma enigmtica,
ao mesmo tempo simples e desafiadora, para a qual o poeta se lana para tratar de
todos os assuntos. a forma em que o erudito e o popular. O aspecto lrico
tambm faz com que o soneto seja extremamente sedutor para ouvintes e leitores.
Tomemos um dos mais conhecidos da nossa literatura, o Soneto de fidelidade,
de Vinicius de Moraes:
De tudo, ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.
Quero viv-lo em cada vo momento
E em louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento.
E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angstia de quem vive
135
136
LIMA, Vasco de Castro. O mundo maravilhoso do soneto. P. 65.
MOISS, Massaud. Dicionrio de termos literrios. P. 432.
75
Quem sabe a solido, fim de quem ama
Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que no seja imortal, posto que chama
Mas que seja infinito enquanto dure.137
A despeito de contar com recursos de construo potica, sentenas
sintticas invertidas, um lxico no to afeito a quem no costuma ler, o poema de
Vinicus de Moraes se tornou amplamente conhecido, tanto quanto, seria possvel
afirmar, suas canes populares. possvel que essa relao desde a essncia
msica-poesia seja reconhecida pelos leitores-ouvintes devido s caractersticas
estruturais do soneto, como veremos no prximo tpico.
Segundo Massaud Moiss, o soneto derivou de uma outra forma italiana, o
strambotti138 (estramboto, composto por oito versos decasslabos, com esquema
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
de rimas alternadas ababababab). Uma variante dessa forma possua seis versos.
Consta139 que os poetas da corte siciliana julgavam essa forma popular
demais, pouco afeita ao desenvolvimento de ideias mais profundas, a qual faltava
uma segunda parte que engrandecesse o poema. Giacomo da Lentino uniu essas
duas verses da cano popular, com a segunda parte composta por diferentes
rimas e um tom mais elevado, com as variaes originais ab ab ab cdc dcd, ou
abababab cdcdc.
Guitone, mais adiante, estabeleceu a configurao que se tornaria clssica
na composio do poema: abba abba cdc dcd. Modificou as rimas dos primeiros
quartetos, tornando-as emparelhadas, mas manteve a estrutura dos tercetos.
Suprimiu o estrambote, tambm chamado de cauda, estrofe que poderia ser
adicionada ao final do poema. Estava fechado o formato ideal do soneto, que
atravessaria os sculos.
Foi esse modelo de que Petraca lanou mo. Os sonetos dedicados sua
amada Laura de Nove (platnica, tal como foi a Beatrice de Dante) tiveram tal
impacto e reconhecimento pela sua beleza, elegncia e amor lngua italiana que
137
MORAES, Vinicius. Livro de sonetos. P. 55. Optei por apresentar este como o primeiro soneto
completo deste trabalho por uma situao pessoal: h trs anos, lendo poesia com estudantes de
uma escola pblica do Rio de Janeiro, um aluno de 15 anos declamou o poema de cor,
supreendendo todos.
138
MOISS, Massaud. Op. cit. P. 432.
139
LIMA, Vasco de Castro. Op. cit. P81.
76
o formato passou a se chamar soneto petrarquiano. Esse soneto lrico amoroso
foi a base para um movimento chamado Petrarquismo, cujo teor de sublimao da
amada sucedeu o amor corts dos trovadores provenais. Na Frana, praticou-se
uma variao com doze slabas em cada verso, o chamado verso alexandrino, que
se tornou tambm um dos mais difundidos pelo mundo.
Nesse sentido, o soneto tem sido escrito com os mais diferentes tamanhos
de versos. Ainda que o decasslabo herico (com acento na sexta e dcima slabas
poticas) tenha se tornado modelar, o sfico (na quarta e dcima) e o de arte maior
(quinta e dcima) tambm so comuns. Versos com todos os tamanhos, at
monossilbicos, so encontrados, como neste de Martins Fontes: Vo / gar / Ro /
lar // O / ar / do / lar // na / flor / h // por / A- / mor140.
O ltimo verso do soneto recebeu a denominao de chave de ouro ou
fecho de ouro. Nesse verso estaria contido toda a ideia do poema. A esse
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
respeito, Massaud Moiss afirma: Quase se diria que o soneto se constroi tendo
em vista culminar no conceito implcito na chave de ouro.
141
Afirma que se d
tanta importncia a esse verso que os parnasianos comeavam por ele, e depois
escreviam todo o resto do poema.
Ainda que esse formato abba abba cdc dcd tenha se cristalizado na histria
da poesia, inmeras variaes do soneto foram praticadas ao longo dos sculos.
No tamanho dos versos e na disposio das rimas ou mesmo a ausncia delas ,
merecem destaque algumas dessas variantes.
Modernamente, as rimas interpoladas podem ser cruzadas (abab abab), e
aos tercetos so permitidas as mais diferentes variaes. O soneto ingls, tambm
chamado elizabetano ou shakesperiano, possui trs quadras independentes com
um dstico final (abab cdcd efef gg), criado por Earl of Surrey (1517-1547), o que
permitiu uma dico mais dramtica nessa lngua. Nesse aspecto, William
Shakespeare (1564-1616) elevou o soneto a uma grandeza mpar, no nos seus
clssicos 154 sonetos, mas tambm os adaptando a dilogos nas peas, como
ocorre no incio de Romeu e Julieta:
140
141
TAVARES, Hnio. Teoria literria. P. 317.
MOISS, Massaud. A criao literria: poesia. P. 279.
77
ROMEO [To JULIET]
If I profane with my unworthiest hand
This holy shrine, the gentle fine is this:
My lips, two blushing pilgrims, ready stand
To smooth that rough touch with a tender kiss.
JULIET
Good pilgrim, you do wrong your hand too much,
Which mannerly devotion shows in this;
For saints have hands that pilgrims' hands do touch,
And palm to palm is holy palmers' kiss.
ROMEO
Have not saints lips, and holy palmers too?
JULIET
Ay, pilgrim, lips that they must use in prayer.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
ROMEO
O, then, dear saint, let lips do what hands do;
They pray -- grant thou, lest faith turn to despair.
JULIET
Saints do not move, though grant for prayers' sake.
ROMEO
Then move not, while my prayer's effect I take.142
J uma sequncia de sonetos tem funo especfica, buscando-se costurar o
conjunto com um tema, ainda que cada poema tenha autonomia. Os 154 sonetos
de Shakespeare compem uma sequncia, por estabelecerem uma relao temtica
entre si. Uma dessas possibilidades a chamada de coroa de sonetos, composta
por 15 sonetos, dos quais 14 so iniciados pelos versos do 15, o soneto mestre.
Massaud Moiss enumera as possibilidades do soneto:
soneto heteromtrico, soneto aparente, soneto invertido, soneto polar, soneto de 15
versos, soneto de 16 versos, soneto de refros, soneto de codas (acrscimo de 6
versos), soneto retrgrado (sonnet rapport), sonetilho (formado de versos curtos,
de uma a oito slabas).143
142
143
SHAKESPEARE, William. Romeo and Juliet. Pp 28-29.
MOISS, Massaud. Dicionrio de termos literrios. P. 434.
78
Mais
adiante,
veremos
as
aplicaes
dessas
formas
variantes,
especialmente no cenrio brasileiro a partir do sculo XX.
Notamos que o soneto se configurou, portanto, como uma base
sedimentada para o pensamento e a prtica da poesia. As variaes do poema
explicitam que, dentre as formas fixas, ele a mais flexvel e permite que o artista
exercite sua capacidade criativa e intuitiva. A estrutura do soneto fez com que se
abrisse uma forma de pensamento dialgico e balanceado, na qual a imaginao e
a razo podem se encontrar no espao dos quatorze versos. Para Vasco de Castro
Lima,
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
os oito primeiros versos expem a ideia: a parte esttica. Os seis restantes
constituem o desfecho: a parte dinmica. As prprias rimas, iguais nos quartetos
e iguais nos tercetos, mas diferentes entre si, concorrem para essa progresso, sem
prejudicar a integrao dos pensamentos e a beleza do ritmo.144
Desse modo, o soneto se tornou uma pedra de toque entre os poetas, uma
vez que se constituiu um espao de liberdade criativa com regras flexveis porm
desafiadoras e, de certo modo, com todo um aspecto ldico para que se
desenvolva a criao do poema. No entanto, longe de ser uma unanimidade, no
foi em todos os momentos desses ltimos sculos que ele esteve em voga, nem
mesmo em nossas terras e nossa lngua. Da ser necessrio explanar o modo e as
condies nas quais o soneto chegou a Portugal e, por conseguinte, ao Brasil.
Ainda que a literatura portuguesa recebesse influncia da Provena, o
soneto lhe foi trazido por Francisco de S de Miranda (1481-1558) em viagem
Itlia. Tendo conhecido e admirado as novidades estticas do Renascimento,
trouxe tambm a sextina, cano, as composies em tercetos e em oitavas, alm
dos versos decasslabos.
Com LuisVaz de Cames (1524-1580), o soneto encontrou um bero
produtivo e engrandecedor. Nessa forma o porta lusitano implementou um teor
lrico nico na lngua portuguesa. Alm da epopeia Os Lusadas, estruturada em
oitavas, Cames fez do soneto o espao potico para cantar o amor numa escala
quase sublime. Tal como Petrarca fez com o italiano, a produo camoniana
elevou a lngua portuguesa a um novo patamar, renovando-a numa obra perene e
144
LIMA, Vasco de Castro. Op. cit. P. 105.
79
de beleza incomparvel. A vida permeada de privaes, amores frustados, prises
e toda sorte de adversidades fez com que sua obra adquirisse um tom
diametralmente oposto. Para Massaud Moiss, o soneto camoniano possui um
equilbrio formal e dialtico, dosado perfeitamente na distribuio das ideias nos
quartetos e na liberao em marcha para os tercetos, num processo discursivo e
dialtico.145 Essa relao pode ser percebida mesmo num discurso mais narrativo,
como neste conhecido soneto:
Sete anos de pastor Jacob servia
Labo, pai de Raquel, serrana bela;
mas no servia ao pai, servia a ela,
e a ela s por prmio pretendia.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Os dias, na esperana de um s dia,
passava, contentando se com v la;
porm o pai, usando de cautela,
em lugar de Raquel lhe dava Lia.
Vendo o triste pastor que com enganos
lhe fora assi negada a sua pastora,
como se a no tivera merecida;
comea de servir outros sete anos,
dizendo: Mais servira, se no fora
para to longo amor to curta a vida.146
No cabe aqui debulhar a potica da lrica de Cames, mas cumpre
mencionar que sua obra possui tanta popularidade que, em fins de sculo XX,
uma banda de rock brasileira fez com que adolescentes cantassem um dos sonetos
adaptado a uma das msicas: Amor um fogo que arde sem se ver; / ferida que
di e no se sente; um contentamento descontete; dor que desatina sem
doer147.
No Brasil, os primeiros sonetos de que se tem notcia foram publicados
pelo baiano Manuel Botelho de Oliveira (1636-1711), com o seu Msica do
Parnaso, no qual havia 42 sonetos. Alis, o livro de fato foi publicado em Lisboa,
em portugus, castelhano, italiano e latim. Ainda que pioneiro, o livro carecia de
qualidade e logo se perdeu nas noites do tempo. Coube a um amigo de Manuel, o
145
MOISS, Massaud. A criao literria: poesia. P. 278.
LIMA, Vasco de Castro. Op. cit. Pp. 366-367.
147
RUSSO, Renato. Monte Castelo. Em Urbana, Legio. As quatro estaes. Rio de Janeiro:
EMI, 1989.
146
80
tambm baiano Gregrio de Matos (1633-1696), fundar a literatura brasileira:
um sonetista.
Poeta de vida desregrada, lrico e satrico, revoltou-se contra o governo e a
Igreja, recebendo a alcunha Boca do Inferno. Ao no poupar o clero e a nova
burguesia adaptada s terras brasileiras, foi o primeiro a cantar a nossa condio e
realidade. A irreverncia o no se curvar diante da ordem estabelecida faz com
que a obra de Gregrio de Matos seja das mais incisivas na literatura brasileira;
nesse aspecto, o soneto mostra ser capaz de absorver o contedo que a intuio e a
inteno tcnica do poeta lancem, como nesta famosa metralhadora giratria
inserida nos quatorze versos:
Neste mundo mais rico o que mais rapa:
Quem mais limpo se faz, tem mais carepa;
Com sua lngua, ao nobre o vil decepa.
O velhaco maior sempre tem capa.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Mostra o patife da nobreza o mapa:
Quem tem mo de agarrar, ligeiro trepa;
Quem menos falar pode, mais increpa:
Quem dinheiro tiver, pode ser Papa.
A flor baixa se inculca por tulipa;
Bengala hoje na mo, ontem garlopa:
Mais isento se mostra o que mais chupa.
Para a tropa do trapo vazo a tripa,
E mais no digo, porque a Musa topa
Em apa, epa, ipa, opa, upa.148
A Pliade Mineira, formada por Jos Baslio da Gama (1741-1795),
Claudio Manuel da Costa (1729-1789), Alvarenga Peixoto (1744-1793) e Tomaz
Antnio Gonzaga (1744-1809) encontrou no soneto o formato para a expresso do
Neoclassicismo (ou Arcadismo) no Brasil. O movimento, sobretudo potico,
buscava cantar a perfeio harmnica dos antigos gregos num contexto de
inspirao simples e pastoril. Diferentemente dos excessos do Barroco,
prevaleciam os temas simples como amor, morte e a solido. O lema retirado de
Virglio (liberta quae sera tamen), inserido na bandeira da Inconfidncia Mineira
e do atual estado de Minas Gerais, explicita a importncia dos poetas nesse
148
Matos, Gregrio de. Poemas escolhidos. P. 40.
81
movimento de libertao, de modo que as ideias e as palavras encerram uma arma
de fora poltica.
A poca romntica no cultivou o soneto como principal forma potica. De
fato, a ideia de renovao e negao de antigas convenes literrias fez com que
poucos sonetos tenham sido registrados pelos mais representativos poetas
romnticos. Gonalves Dias (1823-1864), Castro Alves (1847-1871) e lvares de
Azevedo (1831-1852) pouco sonetaram, diferentemente do grupo posterior.
Os parnasianos tiveram o soneto como forma cristalina de criao potica.
Os quatorze versos eram burilados em busca da perfeio, ainda que custasse a
naturalidade e a fluncia do contedo. Alberto de Oliveira (1859-1937),
Raimundo Correia (1860-1911) e Olavo Bilac (1865-1918) formaram o trio de
ouro da poesia parnasiana. Ouro, diamante, vasos, cristais e toda uma diversidade
de termos alusivos a preciosismos estiveram ligados a esse grupo. Invejo o
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
ourives quando escrevo149, disse Bilac no seu Profisso de f. A construo
potica custa de uma pomposa tortura da palavra em funo da beleza legou um
desequilbrio tal que deixou um preconceito em torno dos parnasianos que ainda
perdura, ainda que se encontrem belos e memorveis sonetos nessa produo. A
chave de ouro parece ser no um desfecho de um poema, mas um tesouro valioso
que se busca um graal? na aventura dos outros treze versos.
A preocupao com o estilo e o trabalho rduo na construo do poema
fizeram com que o grupo simbolista, representado por Cruz e Souza (1861-1898)
e Alphonsus de Guimares (1870-1921), somassem tambm a busca de algo novo,
talvez esquecido desde os romnticos. Os sonetos desse grupo so marcados pelo
iderio do absoluto e da transcendncia humana por meio do smbolo. Para
Alfredo Bosi, o Simbolismo no exerceu no Brasil a funo relevante que o
distinguiu na literatura europeia150. Na esteira dos movimentos de vanguarda
europeus, encontramos em 1922 uma situao peculiar para o soneto. Cumpre-nos
mencionar caso peculiar de Augusto dos Anjos (1884-1914), cuja obra to
relevante quanto sua incapacidade de se enquadrar em quaisquer movimentos
literrios. O seu soneto nos interessa, como registro telrico, cientificista e
amargo, mas ao mesmo tempo lrico, como neste A rvore da serra:
149
150
BILAC, Olavo. O caador de diamantes e outros poemas. P. 5.
BOSI, Alfredo. Histria concisa da literatura brasileira. P. 300.
82
- As rvores, meu filho, no tm alma!
E esta rvore me serve de empecilho...
preciso cort-la, pois, meu filho,
Para que eu tenha uma velhice calma!
- Meu pai, por que sua ira no se acalma?!
No v que em tudo existe o mesmo brilho?!
Deus pos almas nos cedros... no junquilho...
Esta rvore, meu pai, possui minh'alma! ...
- Disse - e ajoelhou-se, numa rogativa:
"No mate a rvore, pai, para que eu viva!"
E quando a rvore, olhando a ptria serra,
Caiu aos golpes do machado bronco,
O moo triste se abraou com o tronco
E nunca mais se levantou da terra!151
Ainda que negassem a influncia direta das vanguardas europeias, os
modernistas que vieram a seguir apregoavam o culto ao novo e a ruptura radical
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
com as prticas estabelecidas. No nos cabe neste estudo um aprofundamento
sobre a Semana de 1922 e seus desdobramentos, mas no por acaso que os
representantes do grupo que permaneceram foram exmios sonetistas, cujos
quartetos e tercetos continuaram sendo produzidos to logo assentasse a poeira da
Semana.
A partir da dcada de 1930, o soneto se revigorou numa produo de
qualidade, revelando que inovao feita com tcnica e domnio do fazer potico:
que o digam Manuel Bandeira (1896-1968), Carlos Drummond de Andrade
(1902-1987), Vinicius de Moraes (1913-1980) e tantos outros, como o caso de
Mrio Quintana (1906-1994), que estreia em 1940 justamente com um livro de
sonetos, Rua dos cataventos, com poemas construdos de forma singela e
profunda, como neste, em que o tempo capturado e desdobrado em si mesmo:
Na minha rua h um menininho doente.
Enquanto os outros partem para a escola,
Junto janela, sonhadoramente,
Ele ouve o sapateiro bater sola.
Ouve tambm o carpinteiro, em frente,
Que uma cano napolitana engrola.
E pouco a pouco, gradativamente,
O sofrimento que ele tem se evola. . .
Mas nesta rua h um operrio triste:
151
ANJOS, Augusto dos. Eu. P. 73.
83
No canta nada na manh sonora
E o menino nem sonha que ele existe.
Ele trabalha silenciosamente. . .
E est compondo este soneto agora,
Pra alminha boa do menino doente. . .152
O soneto se moldou a todos os movimentos e momentos literrios dos
ltimos sete sculos. Ao ser atacado no Modernismo, no se tinha como alvo os
quatorze versos em si, mas o uso que se fazia deles naquele momento. No caso,
dos parnasianos e a ourivesaria com que preenchiam os sonetos. Os parnasianos
passaram, assim como os prprios modernistas que o atacaram, cujas gritas pelo
novo no plantaram muitas novidades alm de um ignorante lugar comum
segundo o qual as formas poticas so coisa passada. O soneto, a mais livre das
formas fixas, permaneceu.
Tanto a Gerao de 45 quanto a de 60 nos legaram exmios sonetistas. O
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
concretismo trouxe inovaes cuja utilizao se deu mais no campo das artes
visuais e da publicidade, da mesma forma como a chamada poesia marginal da
dcada de 1970 se mostrou datada no contexto ditatorial. Poetas surgidos na
dcada de 1980 vm experimentando o soneto com variaes ldicas e
despretensiosas, como Paulo Henriques Britto, com neste invertido:
Existe um rumo que as palavras tomam
como se mo alguma as desenhasse
na branca expectativa do papel
porm seguissem pura e simplesmente
a msica das coisas e dos nomes
o canto irrecusvel do real.
E nessa trajetria inesperada
a carne faz-se verbo em cada esquina
resolve-se completa em tinta e slaba
em sbitas lufadas de sentido.
Voc de longe assiste ao espetculo.
No reconhece os fogos de artifcio,
as notas que ainda engasgam seus ouvidos.
Porm voc rel. E diz: isso.153
152
153
Quintana, Mrio. Poesias. P. 6.
BRITTO, Paulo Henriques. Trovar claro. P. 19.
84
Ainda permaneceu uma certa viso do soneto como vertente pomposa da
expresso potica. Millr Fernandes fez um com pseudopalavras que
correspondem mtrica exata com sistema de rimas perfeitamente construdo,
formando um contedo ininteligvel e parodstico:
Penicilina puma de casapopia
Que vais penia cataramascuma Se
partes carmo tu que esperepias J
crima volta pinda cataruma.
Estando instinto catalomascoso
Sem ter mavorte fide lastimina
s todavia piso de horroroso
E eu reclamo - Pina! Pina! Pina!
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Casa por fim, morre peridimaco
Martume ezole, ezole martumar
Que tua pra enfim mesmo um taco.
E se rabela capa de casar
Estrumenente siba postguerra
Enfim ir, enfim ir pra serra.154
Temos um cenrio diversificado na poesia atual. Por um lado no h
querelas entre grupos que se sobrepem, mas por outro o leitor vai encontrar todo
tipo de produo boa ou ruim. H, ainda hoje, poetas cuja obra toda
constituda de sonetos, como o caso do cego Glauco Mattoso. Com o advento da
internet possvel ler um soneto com facilidade e rapidez na leitura na web, o
poema curto sai ganhando , alm de os mais jovens poderem ter acesso a outros
poetas. Existe mesmo um site brasileiro dedicado somente ao soneto. Em
www.sonetos.com.br, criado em 2002 pelo poeta Bernardo Trancoso, possvel
ler centenas de sonetos, de clssicos a experimentos de desconhecidos. Um fato
recente, como a Copa do Mundo de Futebol de 2010, vem sendo registrado em
formato de soneto pelo poeta, o que nos revela que, em pleno sculo XXI, essa
forma potica ainda tem muito o que nos oferecer e surpreender. Vejamos o
soneto Brasil 0 x 0 Portugal:
"Avanar preciso; vencer, no",
Parecia a proposta portuguesa,
Em partida distante da beleza
Que se via na era Felipo.
Do outro lado do campo, a Seleo
Sem Robinho e Kak, era dureza:
154
FERNANDES, Millr. Trinta anos de mim mesmo P. 18.
85
Apesar do sossego na defesa,
Carecia, no ataque, de emoo.
No se pode prever, desta maneira Cada hora, um esquema diferente O que o time far, daqui pra frente.
Mas, das fases, passou pela primeira,
E acredita a torcida brasileira
Que ele pode deix-la mais contente.155
Com exceo nos momentos de vanguarda e rupturas, o soneto tornou-se
de fato a pedra no necessariamente preciosa, mas fundamental de toque da
construo potica. Em relao a essas poucas e andinas crticas, no prefcio
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
do livro que viria a reunir seus sonetos, Gilberto Mendona Teles (1931- ) afirma:
Estou convencido de que os poetas que falam mal do soneto ainda no mostraram
que o sabem fazer bem. Faz-lo sem mtrica e debochadamente pode ter l o seu
sentido de liberdade de expresso, mas tambm, inequivocamente, sinal de que o
tal poeta de vanguarda no domina bem o seu ofcio e est querendo nos impingir
gato por lebre. E h tambm aquele que, partindo do tradicional, vai reelaborando o
moderno, fundindo moderno e tradicional num discurso prprio e consistente. 156
Para Horcio, j no sculo I a. C., essa questo j estava posta: Como
poeta, ou segue a tradio ou segue o que coerente consigo.157 Vemos, desse
modo, que inovar em literatura significa, antes de tudo, criar sobre a prpria
herana literria, em vez de se promover a ruptura pela ruptura.
No por acaso, o mais cannico e respeitado escritor brasileiro, Machado
de Assis (1839-1908), aps passar toda uma vida criando literatura nos mais
diversos gneros, ao mesmo tempo em que refletia sobre ela, decidiu homenagear
a mulher recm-falecida com um soneto, A Carolina, que entrou para a histria
como um dos mais belos j escritos em lngua portuguesa. A perfeio do soneto
possivelmente tenha sido o espao para dar forma imperfeio da vida e uma
forma de o escritor compreender e reordenar o sentimento da perda:
Querida, ao p do leito derradeiro
Em que descansas dessa longa vida,
Aqui venho e virei, pobre querida,
155
TRANCOSO, Bernardo. Brasil 0 X 0 Portugal. Em www.sonetos.com.br
TELES, Gilberto Mendona. Sonetos. P. XIX. No seu Entrevista sobre poesia, o poeta afirma
ainda: O comum, porm, que o poeta vanguardeiro planta no vazio, repete palavras e imagens
do seu grupo, cortejando a mdia que, por ignorncia literria, cai em si mesma ou, antes, cai na
esparrela, pois dia a dia a poesia mija nela. P. 27.
157
HORCIO. Arte potica. P. 30.
156
86
Trazer-te o corao do companheiro.
Pulsa-lhe aquele afeto verdadeiro
Que, a despeito de toda a humana lida,
Fez a nossa existncia apetecida
E num recanto ps um mundo inteiro.
Trago-te flores, - restos arrancados
Da terra que nos viu passar unidos
E ora mortos nos deixa e separados.
Que eu, se tenho nos olhos malferidos
Pensamentos de vida formulados,
So pensamentos idos e vividos.158
O soneto uma das formas poticas mais conhecidas e relevantes na
histria da literatura. Com sete sculos de existncia, nunca deixou de estar
presente em todos os momentos e movimentos da arte da palavra.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
E como poca de Emlio de Menezes constitua uma forma que estava no
auge novamente, na esteira dos parnasianos, o soneto foi o caixote escolhido pelo
poeta para acomodar seus versos e despach-los como bombas para aqueles que se
tornassem objeto do riso custico do poeta. Os sonetos de Menezes no eram
apenas poemas inspirados em pessoas e fatos, mas por tudo aquilo que causavam
atingiram o estatuto de armas.
Arma que, se disparada pela imprensa, fazia tremer a quem estivesse na
sua mira. Fernando Jorge, em obra sobre a ABL, cita o escritor Medeiros de
Albuquerque, o qual afirmou que a eleio de Menezes para a Academia se deu
justamente por essa qualidade sardnica: Emlio de Menezes foi eleito por medo.
Ele era um bomio desregrado, que vivia na calaria dos cafs e botequins e se
tornara clebre pela sua maledicncia. Maledicncia quase sempre espirituosa,
mas terrivelmente ferina.159 Mas Menezes de fato no chegou a assumir a sua
cadeira na Casa de Machado de Assis, pois fora eleito em 1914 e o seu discurso
de posse foi outro motivo de polmica. Eis o que consta no site oficial da
Academia Brasileira de Letras:
158
159
ASSIS, Machado de. In MOISS, Massaud. A criao literria: poesia. P. 92.
In JORGE, Fernando. A Academia do fardo e da confuso. P. 77.
87
Emlio comps um discurso de posse, em que revelava nada compreender de
Salvador de Mendona, nem na expresso da atuao poltica e diplomtica, nem
na superioridade de sua realizao intelectual de poeta, ficcionista e crtico. Alm
disso, continha trechos arguidos, pela Mesa da Academia, de aberrantes das
praxes acadmicas. A Mesa no permitiu a leitura do discurso e o sujeitou a
algumas emendas. Emlio protelou o quanto pde aceitar essas emendas, e quando
faleceu, quatro anos depois de ter sido eleito, ainda no havia tomado posse de sua
cadeira.160
Pode-se afirmar que a opo de Emlio de Menezes foi, portanto, de estar
margem do sistema literrio de ento. O polmico discurso de posse, que pode ser
acessado no site da ABL, revela a metralhadora giratria do poeta, que no
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
poupou nem os jovens nem os mais velhos alpinistas literrios:
A esses (a Academia me perdoar o emprego de um vocbulo que, alm de mau
inquilino da nossa lngua, de gria e s agasalhado pelo noticirio policial), a
esses pivetes, da literatura, junta-se infalvel e diariamente, s mesmas longas
horas e mesma soleira, uma classe dez vezes mais venenosa, mil vezes mais
perigosa. a dos velhos inditos fora de publicidade. composta de uns
venerandos senhores que j publicaram, por dezenas de anos, dezenas de livros,
volumosos e ponderados, mas sem algum que lhes repita o nome.161
Mas a obra potica e humorstica de Emlio no se resumia a ataques a
essas figuras. Foi no jornalismo que encontrou o espao adequado para olhar
ludicamente para vrios aspectos da sociedade. Para o pesquisador Elias Saliba,
no seu eficaz retrato do humorismo na Belle poque intitulado Razes do Riso, o
crescimento da imprensa no incio do sculo XX fez com que os jornais e as
revistas fossem responsveis pela popularizao do humor, mas que essa
produo aparecia sempre nas margens: primeiro nos rodaps dos jornais ou em
pequenos e efmeros pasquins semanais, depois nas margens das obras dos
prprios autores e, por fim, nas margens da prpria produo escrita.162 Mesmo
de forma marginal, com o humor o meio j se tornava um tipo de mensagem,
como Menezes deixou no divertido e leve soneto O meu batismo, a respeito da
revista Fon-Fon!:
Quis alegre surgir pela manh
Do dia de hoje a procurar algum
160
Disponvel em
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=493&sid=220
161
MENEZES, Emlio. Discurso de posse. Disponvel em
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=8413&sid=220 162
SALIBA, Elias Tom. Razes do riso. p. 38.
88
Que quisesse a alegria honesta e s
Que estas pginas trfegas contm.
Fugindo ao nosso eterno r-me-r
Busquei um nome que casasse bem
Aos gostos de uma folha folgaz,
E a meu prprio aqui dou meu parabm!
Lembraram-me diversos, mas nenhum
Deles, no sei por que, pude achar bom
E quase estive a batizar-me Pum!
Mas passa um automvel. Pego o som: Fanfan Fen-fen Fin-fn Fon-fon Fun-fun
De fan-fen-fin-fon-fun, quis ser Fon-Fon!163
O aspecto ldico presente no soneto solta a amarra do escritor, revelando
que ele pode evocar o recurso da aliterao com a finalidade de evocar a
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
onomatopeia que d nome revista. Em outro soneto, o Menezes tomou como
mote uma nota dos jornais ("A Sra. Pepa Ruiz e o sr. Pupo de Morais andam em
negociaes para o arrendamento do Mercado do Rio de Janeiro") e pipocou os
despretensiosos quatorze decasslabos com palavras iniciadas com P:
PROSOPOPEIA DA PEPA AO PUPO
Parece peta. A Pepa aporta praa
E pede ao Pupo que lhe passe o apito.
Pula do palco, plida, perpassa
Por entre um porco, um pato e um periquito.
Aps, papando, em p, pudim com passa,
Depois de peixes, pombos e palmito,
Precpite, por entre a populaa,
Passa, picando a ponta de um palito.
Peas compostas por um poeta pulha,
Que a papalvos perplexos empunha,
Prestando apenas pra apanhar os paios,
Permuta a Pepa por pastis, pamonha...
- Que a Pepa apupe o Pupo e popa ponha
Papas, pipas, pepinos, papagaios!164
163
164
MENEZES, Emlio. Fon-Fon!, Rio de Janeiro, 1(1), abril, 1907.
MENEZES, Emlio. Mortalhas. P. 58.
89
J conhecido nos jornais, Emlio de Menezes era ento um farol para
apontar onde e de quem os leitores deveriam rir. Nem mesmo o Papa ou talvez
justamente por ser o Papa foi poupado. Sob o pseudnimo de Zango, com que
escrevia no jornal A Imprensa, partiu de uma notcia segundo a qual o Sumo
Pontfice iria suprimir sete dias santos para criar o dia de So Pedro e associar o
decreto a uma profunda ociosidade do Papa:
Sem ter ofcio certo, o nosso papa
Matuta agora em que passar o dia.
Da priso que o envolve no se escapa
E, de Veneza, sofre a nostalgia.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Do mundo crente dominando o mapa
E, exercendo a maior soberania,
V, entretanto, que o mundo se lhe escapa
E, no conhece o que dirige e guia.
Para se distrair, o prisioneiro,
Os dias santos, impiedoso, corta
Mas um concede ao celestial porteiro!
E no fizesse que, de cara torta,
Quando soltasse o alento derradeiro,
So Pedro, face, lhe trancava a porta!165
Os exemplos citados ilustram bem a pena afiada de Emlio de Menezes,
motivo pelo qual era temido. Padres, freiras, polticos, acadmicos, fosse quem
fosse, o poeta no media esforos apenas media o verso - para expor seu objeto
pilhria. Bem conhecido o Hino dentada sobre a famosa Confeitaria
Colombo, que se tornou o ponto de encontro literrio mais famoso do Rio de
Janeiro:
Lebro! Tu sabes que a Confeitaria
Colombo verdadeira sucursal
Da nossa muito douta Academia
Mas sem cheiro de emprstimo oficial.
Cerca-te sempre a grande simpatia
De todo o literato honesto e leal, E
tu te vais tornando dia a dia
O mecenas de todo esse pessoal.
Nisto mostras que s homem de talento,
165
MENEZES, Emlio. A imprensa. Rio de Janeiro, n. 1357, 9 set. 1911, p. 1.
90
Que no cuidas somente de pastis
Nem de lucros tirar cento por cento.
Atende, pois, a um dos amigos fiis,
Que est passando por um mau momento
E anda doido a cavar trinta mil-ris!166
Menezes, neste soneto, atacou a Academia Brasileira de Letras, que era
subsidiada pelo Governo aps um incio de dificuldades financeiras, ao mesmo
tempo em que se afirmou como um indivduo sem dinheiro e humilde, bem
diferente dos fregueses leais e dos acadmicos que frequentavam o local. O poeta
se marginaliza mais uma vez para construir o seu verso humorstico. O cronista
Humberto de Campos (1886-1934), contemporneo de Emlio de Menezes, afirma
que o humorismo seria a arte de distanciar certo indivduo do seu meio para ele se
divertir com os seus semelhantes, da mesma forma que os deuses se divertiam
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
com os homens. O satrico seria voltado para agredir um indivduo ou grupo, por
isso que s poderia ter surgido numa sociedade belicosa como a grega. Para o
cronista, o satrico zomba de um grupo especfico, intentando corro-lo nos seus
sustentculos, enquanto que o humorista busca abranger o conjunto, semeando
uma chuva cida sobre toda a superfcie terrestre167. Essa chuva cai sobre todos,
entre eles o prprio poeta, que no se importa com isso. Pelo contrrio, ele mesmo
quer se tornar um desses objetos sobre quem cai a chuva cida para os outros,
apenas gua para ele.
166
167
MENEZES, Emlio. Poesia satrica. P. 29.
Cf. CAMPOS, Humberto de. Antologia da ABL, p. 359.
91
3.3 Emlio o lobo do homem
Podemos notar que a obra de Emlio de Menezes traduziu um momento de
transio entre dois contextos da poesia humorstica, convertendo-se, antes, numa
forma de humor potico. Com a forma parnasiana e contedo relacionado aos
fatos corriqueiros, especialmente ligados a figuras pblicas, a mordacidade
anrquica dessa obra constituiu, ela mesma, um tipo de poder que se conferiu ao
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
poeta. Para o professor Antnio Arnoni Prado, Menezes trabalha o riso fcil,
derivado da "necessidade de dissimular essa distncia ilustrada que separava os
nefelibatas dos revolucionrios"168. Nessa perspectiva, o humor sob a forma de
poesia de Emlio de Menezes foi nada menos que um hiato entre um
parnasianismo de fim de sculo e a chegada arrebatadora das vanguardas
europeias, que atracariam volumosamente nos portos brasileiros em poucos anos,
desembarcando grande carga de inovao e transgresso, sobretudo pelo meio do
humor e do riso.
Uma contradio parece estar presente na potica de Menezes. Ao mesmo
tempo em que fulminava as figuras pblicas com seus sonetos mordazes, parecia
guardar certo respeito pelo cnone literrio. Se anos antes Machado de Assis o
impediu de ingressar na Academia Brasileira de Letras, em 1917, ao publicar sua
traduo do poema O corvo, de Edgar Allan Poe, dedicou-a memria do
Bruxo do Cosme Velho. Um ano antes de morrer, e j eleito para a ABL, Emlio
parecia no ter guardado rancor, no s justificando a dedicatria a Machado, mas
assumindo que parafraseou a traduo do autor de Quincas Borba:
168
Cf MENEZES, Emilio de. Obra reunida. p. xxi.
92
O inexcedido e inexcedvel tradutor do genial poema de Edgar Poe, consagro esta
plida parfrase que em nada se aproxima e jamais pretendeu aproximar-se da
imorredoura traduo feita pelo Mestre dos Mestres.169
Mas enquanto lhe deram espao, Emlio fez do soneto o espao privilegiado
de anlise potica e humorstica do cotidiano. No lhe faltariam oportunidades de
ingressar no ramo publicitrio, rea qual muitos poetas se dedicariam, como o j
mencionado Bastos Tigre. Assim como Tigre e Olavo Bilac, Emlio tambm
promoveu o ento famoso xarope Bromil, no soneto Um milagre, veiculado na
revista D. Quixote:
Lira: Se qual o azeite anda por cima,
Nada a muda do branco para o preto, E
nem perde a verdade apreo e estima
Pelo fato de a expor em tom faceto;
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Como tudo que existe cabe na rima,
Bem cabe um atestado num soneto.
Por isso, a ideia que hoje aqui me anima,
Nestes quatorze versos lhe remeto;
Pode afirmar, por toda a eternidade,
Aos mil que sofrem e aos descrentes mil,
Que isso que a vai a essncia da verdade!
De horrvel tosse que me ps febril,
Dei cabo, usando apenas a metade
De um milagroso frasco de Bromil.170
Mas boa parte da poesia humorstica de Emlio tratou mesmo dos fatos
observados na imprensa e rebatidos em forma de versos. Vrias das suas
investidas tomavam como mote manchetes dos jornais, que eram publicadas antes
do poema, de modo a permitir que os leitores estabelecessem as referncias entre
o fato e o comentrio potico-humorstico. Em 1911, a partir da notcia de que o
cardeal Arcoverde seria eleito para a ABL, na vaga de Raimundo Correia,
publicou uma quadrinha sob o pseudnimo Zango: A eleio s provvel? /
Qual nada! certa, fatal. / Candidato mais papvel / No h de que um
169
170
MENEZES, Emlio. Op. Cit. P. 71.
Idem, ibidem, p. 161.
93
cardeal.171 Apesar de ser o candidato mais papvel, a cadeira 5 nessa eleio
acabou concedida a Oswaldo Cruz.
Quando faltava a Emlio de Menezes alguma notcia ou polmica que
servisse de motivo, encontrava-se no mesmo lugar que o cronista que escreve
justamente sobre a falta de assunto, como no poema Mesmice, publicado em A
imprensa sob a mesma voz de Zango:
Quisera eu pr nestes quatorze versos
Um leve, fino, alegre comentrio
A algum novo e notvel caso dirio,
Entre os casos urbanos mais diversos.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Percorro dos jornais o noticirio,
Leio artigos e tpicos dispersos,
A pedidos satnicos, perversos,
Desastres, crimes, contos do vigrio.
Nada encontro que inspire alegre musa
Uma nota satrica e atrevida
Que nos nervos um frmito produz.
sempre a mesma coisa repetida:
Luza o sol, venha a noite, o sol reluza,
Como, o banal, se reproduz a vida!172
Ironicamente, esse aspecto sardnico da poesia de Menezes, ainda que
formalmente presa aos moldes parnasianos, exerceria influncia nos anos
seguintes sua sada de cena. Oswald de Andrade reconhece a influncia da
poesia de Emilio de Menezes na sua potica. Em 1911 havia lanado o jornal O
Pirralho, contando com a participao do humorista, da que reconhecesse a
presena volumosa de Menezes nas suas memrias, como narra na sua
autobiografia Um homem sem profisso:
Entre velhos e novos no encontrei um s escritor que nessa poca me animasse na
inteno de renovar letras e artes. S Emlio podia me interessar porque era feroz
maldizente. Confraternizei com esse baluarte da stira, apesar de realmente ele em
nada ter avanado. Destrua paspalhes e mediocridades, mas era at vagamente
catlico. Em poltica, por pobres motivos, pertencia faco do ditador Pinheiro
Machado. Suas teorias sobre o verso eram ridculas e, quando declamava a srio os
sonetes desengarrafados de seu empolado parnasianismo, tomava a languidez de
171
172
Idem, ibidem. P. 176.
Idem, Ibidem. P. 179.
94
uma prima-dona de bigodes. E partia a cara de quem piasse contra a sua impoluta
versificao.173
Ainda que Oswald no poupasse crticas falta de inovao de Menezes
a qual nem de longe constitua um projeto literrio do poeta , inclusive porque
olhava o passado sob as lentes j sedimentadas do ataque ao Parnasianismo como
proposta modernista, parecia que o autor de O rei da vela mantinha a velha
admirao pelo aspecto de quebra de paradigmas do antigo companheiro. Se por
um lado faltasse a Menezes um ambicioso projeto de transgresso potica, algo
que Oswald colheu em outras fontes alm do Atlntico, sobravam no versejador
paranaense a prtica de ataque visceral a quem quer que fosse poetas, artistas,
polticos.
Mas esse tom tpico ataque, especialmente explcito nos poemas que
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
postumamente seriam publicados em Mortalhas os deuses em ceroulas, tambm
abriu portas para que os versos de Emlio de Menezes se tornasse temido e
respeitado no meio literrio. Em 25/03/1906, o escritor Elisio de Carvalho
entregou a Emlio um texto saudando o poeta, descrevendo rica e exageradamente
sua figura como representativa do que escrevia:
A sua cabea, leonina, inspirada e fatdica, faz lembrar conjuntamente as
fisionomias estranhas de Goethe, de Nietzsche e de Flaubert; a negra cabeleira,
abundante e ondulosa, cai-lhe sobre a fronte larga e elevada onde a chama
visionria arde sempre, sem se consumir; os grossos bigodes, armados em pontas,
cobrem o bratro amargo da sua boca, cratera de lamentos, antemas e
blasfmias; o olhar, um olhar sutil, penetrante, flico e vitriolesco, parece como
voltado para dentro, perdido em no sei que sonho interior. Todo o seu ser, com a
formosura severa de seu rosto, a tristeza sugestiva dos seus olhos de um azul
plido inquietante e o seu perfil de efebo bbado de luz, ainda um modelo de
perfeio esttica [...]174
Curiosamente, enquanto a imagem bomia de Emlio havia sido rejeitada
por Machado de Assis anos atrs, o poeta paranaense passou a ser reverenciado in
extremis justamente pelas suas caractersticas, tanto poticas quanto fsicas. No j
citado discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, Humberto de Campos
tambm no deixa de louvar o poeta que iria substituir, executando um sublime e
173
ANDRADE, Oswald de. Um homem sem profisso: sob as ordens de mame. P. 76
174
Cf MENEZES, Emlio. Op. Cit. P. 463
95
besuntado panegrico em torno de Emlio. Note-se que a lngua ferina do poeta
agora se convertia numa arma quase divina:
O seu gnio estava, entretanto, no brilho do ataque aos adversrios. A sua
lngua, que teria sido servida pela sabedoria de Esopo no segundo almoo
de Xanto, no respeitava, ento, nem homens, nem santos, nem deuses. A
maledicncia transformava-se, nesses momentos, para ele, numa arte
elegante e sagrada, de que se tornava o mais meticuloso dos sacerdotes.
Utilizava a malcia, a stira, a palavra ferina, com a graa, a volpia, a
perversidade galantes com que em Florena se utilizava o veneno.175
Pode-se perceber que a poesia de Emlio de Menezes, que tanto o elevava e
abria caminhos, era imbuda de um sentido autntico de superioridade,
caracterstico de uma das mais fortes correntes de estudo a respeito do riso. O
filsofo Ingls Thomas Hobbes, no seu Leviat (Homo homini lupus), citando
Plauto na sua comdia Asinaria (A comdia dos burros). Para Hobbes, o riso
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
aponta para uma situao de superioridade de quem ri sobre o objeto risvel:
O entusiasmo sbito a paixo que provoca aqueles trejeitos a que se chama riso.
Este provocado ou por um ato repentino de ns mesmos que nos diverte, ou
pela viso de alguma coisa deformada em outra pessoa, devido comparao
com a qual subitamente nos aplaudimos a ns mesmos. Isto acontece mais com
aqueles que tm conscincia de menor capacidade em si mesmos, e so obrigados
a reparar nas imperfeies dos outros para poderem continuar sendo a favor de si
prprios. Portanto um excesso de riso perante os defeitos dos outros sinal de
pusilanimidade. Porque o que prprio dos grandes espritos ajudar os outros a
evitar o escrnio, e comparar-se apenas com os mais capazes.176
Essa posio na qual o poeta se colocou, armado com a adaga afiada do
verso, o colocava nessa posio pusilnime, causando o temor e ao mesmo tempo
exigindo o respeito crtico pela sua obra. Ao suprimir o veio lrico dos primeiros
livros e se dedicar ao verso ferino veiculado na imprensa da Belle poque, o
cordeiro adormeceu, e o lobo tornou-se a principal faceta do poeta Emlio de
Menezes, de maneira que a arma que o defendia se converteu em pilar da sua
potica sardnica. E assim o poeta se tornou uma fonte de chuva cida na vida
literria carioca do incio do sculo XX, alm de contribuir para o anedotrio
geral. Algumas dessas histrias tornaram-se bastante conhecidas, especialmente
pelo tom ldico e trocadilhesco que as envolvia.
175
176
MENEZES, Emilio de. Op. Cit. P. 448.
HOBBES, Thommas. O Leviat. P. 25
96
Um exemplo registrado por Bastos Tigre e publicado em 1918 na revista
D. Quixote, fundada por esse poeta e tambm humorista um ano antes: certa vez,
Emlio visitava uma exposio agrcola e deteve-se a examinar alguns exemplares
de espigas de milho, no pavilho de cereais. Subitamente um amigo espirituoso
surge, e sabendo das qualidades de Emlio como exmio trocadilhista, provocou-o:
milho!
Emlio nem sequer sorriu pela blague a ele dirigida e logo respondeu:
Hum, ests com a veia, hoje?
O humorista amador percebeu que no poderia concorrer com Emlio no
quesito trocadilhos, fazendo meno de se despedir. O poeta o segurou com novo
golpe temtico:
No, no se evada.
E para finalizar, puxou o pobre at uma cadeia prxima, colocando-o sobre
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
o assento.
Pronto: sentei-o. Mas no te preocupes. A ti no intrigo, somente
humilho.177
Eis, portanto, uma potica que se utilizou do humor como recurso para
assinalar a superioridade do autor, no s no mbito do riso a fim de massacrar
aqueles de quem Emlio de Menezes tomou como objeto para seus sonetos, mas
tambm para assinalar um lugar do autor como algum que utilizou a stira para
transitar e galgar degraus na cena literria. Do bomio rejeitado pela cpula
acadmica da ABL, anos depois o riso garantiu a Emlio essa glria, que se no
ficou, elevou, honrou e consolou o poeta, que nem chegou a desfrutar da Casa,
tendo morrido antes da posse, assinalou um uso bem especfico do riso como
arma.
Vejamos, no prximo captulo, como o humor acabou enveredando por
outras vertentes nas dcadas seguintes, a partir do Modernismo que Emlio no
viu nascer, mas cujo embrio ajudou a plantar no convvio com Oswald de
Andrade.
177
In Menezes, Emlil. Op. Cit. P. 461.
97
4
BARO, OSWALD E GUIDAL: HUMODERNISMOS
4.1 Humodernidades
Conforme observamos at aqui, o humor se tornou um antdoto contra o
pensamento estabelecido, tanto como recurso estilstico para fins especficos, no
caso de Emlio de Menezes, quanto como postura de mundo que precede essa
etapa da construo do texto literrio. Se considerarmos o humor como uma
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
tentativa de burlar um sistema de regras sedimentadas e trazer uma ideia ou viso
nova das coisas, como ele se deu entre os movimentos de vanguarda artstica e
mesmo nos canais de imprensa do sculo XX, que por diversas ocasies passaram
por momentos caracterizados pelo tolhimento das liberdades de expresso?
A fim de observarmos essa ocorrncia do humor no contexto brasileiro,
vale uma pequena revisita ao perodo anterior, observando algumas razes
histricas. Para no nos estendermos, vejamos algumas formas de representao
burlescas do poder poltico a partir do incio da Repblica.
Uma vez que a colonizao ibrica tenha gerado instituies fracas,
propensas corrupo, ao apadrinhamento e impunidade, abriu-se espao para
que o povo adquirisse um gosto especial pela transgresso. medida que essas
mesmas instituies no se voltavam para o povo, ele acabou por encontrar na
transgresso pela zombaria uma forma de reclamar os seus direitos. E o humor
seria uma forma de expresso dessa agressividade urbana, mas de forma pacfica,
sem o uso da luta armada contra as instituies oficiais. As contradies
existentes entre o que pregava o governo e o que a realidade explicitava serviram
de base para as manifestaes risveis das atitudes do governo. Um dos exemplos
mais conhecidos a banalizao da transio da Monarquia Repblica retratada
no romance Esa e Jac, de Machado de Assis, em que a troca do letreiro de uma
confeitaria, de Imprio para Repblica, acaba levando o dono do
98
estabelecimento a deixar apenas Confeitaria do Brasil, ou seja, o nome no fazia
a menor diferena para o estado final das coisas.
Era comum em vrias naes a simbolizao da Repblica por uma figura
de mulher. Mas essa forma de representao republicana por uma imagem
feminina s funcionou no Brasil por via caricata, como na apresentao de uma
mulher com formas masculinizadas. Isso revela uma tendncia ao olhar
simultaneamente desconfiado e transgressor diante de uma ideia apresentada pelo
poder oficial, olhar esse que se manteria ativo nos perodos posteriores.
Os registros humorsticos dessa poca foram uma das formas mais eficazes
de representao dos paradoxos da realidade e vo marcar todo o humor poltico
posterior com essa mesma caracterstica: a distncia existente entre o que o
governo afirma e o que o povo vive. A contradio oficial servia aos humoristas.
Segundo Elias Saliba, era quase impossvel no enxergar aquela situao com um
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
olhar risvel: como imaginar a nao brasileira, e os brasileiros como cidados,
com uma Constituio formalmente liberal, olhando para a realidade daquela
repblica oligrquica, coronelista, nepotista e, acima de tudo, excludente?178
Para esse professor, o humor pardico caracterstico do incio do sculo foi
uma das formas privilegiadas que tivemos de representar a possibilidade da vida
privada brasileira. Entendendo a pardia como um recurso expressivo cuja
finalidade destruir o objeto ao qual se refere, podemos afirmar que essa atitude
reflete bem a tendncia agressividade contra o poder oficial. Charles Schutz, em
artigo sobre humor poltico, lembra que toda forma de humor de natureza
agressiva, mas, como mencionamos acima, ocorre de forma leve, materialmente
pacfica: By its concealment, puzzlement, and amusement, the humorist may
aggress against his targets with minimal risk. Cryptic humor disarms its
antagonists as it subverts them.179 A pardia seria essa forma adequada de atacar
o discurso oficial. Segundo Affonso Romano de SantAnna, no seu pequeno e
interessante livro Pardia, parfrase & cia, a pardia tem como finalidade atacar
o texto oficial deformando-o, como uma lente ou um espelho invertido, realizando
178
SALIBA, Elias. A dimenso cmica da vida privada na Repblica. In: SEVCENKO, Nicolau
(org.). Histria da vida privada no Brasil, p. 305.
179
SCHUTZ, Charles. THE CRYPTIC HUMOUR OF POLITICAL JOKES Disponvel em
<www.ozcomedy.com/journal/21schutz.htm> Acessado em 01/12/2001. [Por seu encobrimento,
enigma e diverso, o humorista pode ser agressivo com os seus objetivos com risco mnimo. O
humor encoberto desarma seus antagonistas tanto quanto os subverte.]
99
os mesmo efeitos da caricatura. Para ele, o texto parodstico (...) um processo
de liberao do discurso. uma tomada de conscincia crtica.180 Embora esteja
se referindo a textos literrios, podemos facilmente aplicar essas ideias ao modo
como o povo encara o discurso oficial, pois o ato de parodiar bastante comum
no conjunto das manifestaes populares brasileiras.
A influncia das vanguardas europeias culminou na necessidade de
renovao das nossas artes somada a uma nova busca da nacionalidade, no por
acaso cem anos aps o Grito do Ipiranga. A Semana de Arte Moderna, realizada
em fevereiro de 1922 no Theatro Municipal de So Paulo, foi iconoclasta por
excelncia e negava radicalmente as contribuies do passado. Buscava-se
quebrar quaisquer traos de subordinao acadmica, espritos conservadores e
conformistas, em prol da pesquisa de linguagem esttica e a criao (ou, melhor
dizendo, atualizao) da inteligncia e sentido de nacionalidade.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Segundo Peter Brger, as vanguardas europeias tinham o objetivo de
atacar uma arte burguesa, e associar a manifestao esttica a uma prxis das
pessoas: Tal fato no ocorreu e, na verdade, nem pode ocorrer na sociedade
burguesa (...)181 Se a proposta, digamos, esttica passou inclume no dia-a-dia
dos cidados, no se pode dizer que o mesmo ocorreu com o humor. A publicao
de textos puramente humorsticos, como Histria do Brasil pelo Mtodo Confuso,
de Mendes Fradique, se deu no mesmo ano de 1922. Na apresentao de uma
edio recente do livro, a pesquisadora Isabel Lustosa afirma que o Brasil
mestio e moleque de Mendes Fradique tem muito a ver com o Brasil de Oswald e
de Mrio de Andrade.182 Ainda que o livro tenha sido um grande sucesso editorial
na poca em que foi lanado, no por acaso ficou de fora da histria oficial do
modernismo ensinada at hoje. Ao que parece, a Academia tem predileo pelas
tentativas de transgresso presentes em um Macunama ou na Poesia Pau-brasil,
que hoje so lidos quase exclusivamente em mbito acadmico. Lustosa assinala
que o humor de Mendes Fradique produz um rompimento muito mais radical do
que o de Oswald ou Murilo Mendes183 Ao que parece, um texto que no-srio
180
SANTANNA, Affonso Romano de. Pardia, parfrase & Cia, p. 30.
181
BRGER, Peter. Negao da autonomia da arte pela vanguarda. P. 113
182
FRADIQUE, Mendes. Histria do Brasil pelo Mtodo Confuso. P. 10.
183
Idem. p. 11.
100
por excelncia e subverte a histria oficial do pas foi vanguardista demais para
sobreviver como uma referncia.
Nesse ponto, cumpre lembrar que o humor no se pretende uma arma
direta contra quaisquer sistemas polticos, lingusticos ou de doutrinas. Mesmo
porque o humor se estabeleceu como uma categoria textual menor, tal como a
crnica. Sirio Possenti, que estuda o efeito lingustico de aforismos, aponta que
esse tipo de texto geralmente possui uma pretenso filosfica, moralizante e
profunda, mas os textos humorsticos em geral no possuem tal pretenso. Nesses
casos, por mais que expressem verdades at mesmo mais vlidas que as aceitas
nos demais campos, no tm, em geral, esse estatuto.184
As revistas de humor surgidas no incio do sculo XX no Rio de Janeiro,
como Revista da Semana, O Malho, Kosmos, Fon-Fon! e Careta, tiveram funo
especial ao preparar o esprito de leitores para a transgresso dos modernistas. Ao
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
analisar o contexto do da Belle poque, Elias Saliba reconhece que, embora a
produo humorstica brasileira j existisse com algum volume at o final do
sculo XIX, foi apenas a partir do incio da Repblica que as publicaes
receberam certa autonomia, antes relegada a um espao marginal: primeiro nos
rodaps dos jornais ou em pequenos e efmeros pasquins semanais, depois nas
margens das obras dos prprios autores e, por fim, nas margens da prpria
produo escrita.185
Foi
a partir
do
sculo
XX, portanto,
que os
humoristas
se
profissionalizaram. Muitos deles eram poetas186, com frequncia filiados
tradio parnasiana. Passaram a atuar na publicidade e, em seguida, no teatro de
revista. Nomes como Bastos Tigre, Emilio de Menezes, Jos do Patrocnio Filho
lanaram seus sonetos, trovas e toda sorte de pardias e slogans de forma
volumosa e nunca antes vista no pas. Nas dcadas seguintes, os humoristas iriam
se estabelecer no rdio e no jornalismo impresso.
Na Era Vargas (1930-1945), um nome se destacava por atacar diretamente
o poder por meio do jornal: Apparcio Torelly, gacho que ficou mais conhecido
como Baro de Itarar. J em 1908, publicou o jornal Capim Seco, em que
184
POSSENTI, Srio. Humor, lngua e discurso. P. 130.
SALIBA. Op. Cit.. p. 38.
186
Ou vice-versa.
185
101
satirizava o comportamento dos jesutas do colgio onde estudava, em So
Leopoldo.
O pseudnimo e personagem Baro de Itarar nasceu nas pginas do jornal
"A Manh" em 1930. A Batalha de Itarar ocorreria entre as tropas fiis a
Washington Lus e as da Aliana Liberal que sob o comando de Getlio Vargas,
vinham do Rio Grande do Sul em direo ao Rio de Janeiro para tomar o poder.
Na cidade de Itarar, situada na divisa de So Paulo com o Paran, foi feito um
acordo e a esperada e sangrenta batalha nunca aconteceu. Apparcio ento se
denominou Duque de Itarar, e em seguida se rebaixou para Baro, alegando
modstia.
Foi no jornal A manh que Apporelly encontrou o primeiro grande canal
para divulgar sua obra humorstica. O poema e o humor eram formas de expresso
comuns na imprensa da poca, e o Baro dominava a tcnica do soneto
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
perfeitamente. Segundo o pesquisador Claudio Figueiredo, a coluna A manh
tem mais, assinada por Apparcio Torelly, foi um ponto relevante na histria do
humor brasileiro:
Ao recrutar Apporelly, Mrio Rodrigues pretendia oferecer aos leitores uma
atrao que concorresse com Bastos Tigre, grande nome do humor que brilhava
nas pginas do jornal rival, o Correio da Manh. Porm, ao traar pequenos
perfis em forma de soneto, Apporelly no estava inovando, mas seguindo uma
tradio recente que associava humor e poesia. Ao ingressar naquele restrito
clube, Apporelly inscrevia seu nome na genealogia do humor brasileiro.187
Foi ali que produziu poemas como a pardia do famoso soneto Ouvir
estrelas de Olavo Bilac. Observemos ambos:
OUVIR ESTRELAS
"Ora (direis) ouvir estrelas! Certo
Perdeste o senso!" E eu vos direi, no entanto,
Que, para ouvi-las, muita vez desperto
E abro as janelas, plido de espanto...
E conversamos toda a noite, enquanto
A via-lctea, como um plio aberto,
Cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto,
Inda as procuro pelo cu deserto.
Direis agora: "Tresloucado amigo!
187
FIGUEIREDO, Claudio. Entre sem bater.P. 109.
102
Que conversas com elas? Que sentido
Tem o que dizem, quando esto contigo?"
E eu vos direi: "Amai para entend-las!
Pois s quem ama pode ter ouvido
Capaz de ouvir e de entender estrelas."188
OUVIR PANELAS
Ora! - direis - ouvir panelas! Certo
ficaste louco... E eu vos direi, no entanto,
que muitas vezes paro, boquiaberto,
para escut-las plido de espanto.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Direis agora: - Mas meu louco amigo,
que podero dizer umas panelas?
O que que dizem quando esto contigo
e que sentido tm as frases delas?
E direi mais: - Isso quanto ao sentido,
S quem tem fome pode ter ouvido
Capaz de ouvir e entender panelas...189
No poema do Baro o soneto teve um terceto a menos, o que no lhe
quebra o ritmo, mesmo porque os decasslabos se mantm. Ao compararmos o
texto original e a pardia perceptvel um deslocamento de sentidos direto.
Substituem-se estrelas por panelas, o que pode redundar numa crtica social, mas
o que mais confere fora nessa mudana a troca de um elemento sublime
(estrelas) por outro banal e sem significado elevado (panelas).
Ainda que o Baro no tenha feito parte do movimento Modernista, notase uma migrao clara da proposta parnasiana para a poesia humorstica do
sculo XX. O que segue na pardia tem um efeito irnico e crtico, pois ao
contrapor a esttica modernista esttica parnasiana, o Baro transforma o
discurso da sublimao apaixonada para uma situao de misria humana. No
texto original, o nonsense do termo ouvir estrelas adquire sentido verossmil a
partir da explicao do ltimo terceto. J o nonsense de Ouvir panelas ganha
sentido apenas pela justificativa da fome. Segundo Affonso Romano de
188
189
BILAC, Olavo. Antologia potica. P. 28.
A manh, 10/03/1926.
103
SantAnna190 o texto do Baro de Itarar permite uma leitura em duas vozes:
uma em presena (texto moderno-pardia) e outra em ausncia (texto
parnasiano-original). Por meio desse jogo de presena e ausncia que o sujeito
da pardia se mostra, remetendo e apoiando sua fala a partir da fala ausente do
outro. A sua identidade aparece pela tomada do discurso do outro. A pardia
constitui, portanto, uma estratgia de elaborao da identidade.
Demitido do jornal A Manh, O Baro decidiu criar o jornal parodstico A
Manha191. Foi preso por utilizar no jornal textos humorsticos atribudos a
membros do governo, inclusive o presidente Washington Lus, que teria assinado
Vaz Anto Lus. Pela primeira vez no Brasil aparecia um jornal com esse tipo de
humor direto, despreocupado com a elegncia, e tambm todo escrito por uma s
pessoa. A Manha acabou e foi relanado vrias vezes, tanto pela falta de
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
organizao de Apporelly quanto pelas represlias praticadas pelo governo. Ficou
bastante conhecido o episdio em que o humorista, aps ter sido espancado e
abandonado na rua seminu, relanou o seu jornal e afixou na porta um cartaz:
Entre sem bater. O Baro, no entanto, ainda continuaria batendo. Eleito pelo
PCB com o slogan Mais gua e mais leite; mas menos gua no leite, o
Congresso aprovou o projeto de cassao de todos os vereadores e deputados
comunistas. Depois de ser preso e solto mais uma vez, lanou seu Almanhaque,
reunindo o material dA Manha, que deixou de circular definitivamente em 1958.
190
SANTANNA, Affonso Romano de. Pardia, parfrase & cia. P 25.
Segundo o Baro, "um rgo de ataque... de risos." Essa descrio explicita o flerte do humor
com o questionamento da ordem estabelecida, evidenciando que se trata de uma tentativa, no um
ataque direto.
191
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
104
Esse quadro trazia um perodo em que o humor comeava a adquirir certa
liberdade. A obra do Baro traria marcas tpicas das transgresses modernistas
pelo uso do humor, como a pardia, e assim se manteria nos anos seguintes. Na
fase de 1945 a 1947, o hebdromedrio, como o autor chamava A manh,
relanou as sees escritas com sotaques estrangeiros, que haviam feito grande
sucesso no perodo de 1926 a 1935. Imitando a fontica lusitana, sob o
pseudnimo de Jlio DAntas, tratava de um amor no correspondido:
AMOIRE INGRATU
Hoje puguei da queneta
au dispois puguei nu papeie
pra inscrebeire este suneto
gaja que me rupele.
Ela no quere me beire
ela no quere cumbersa;
pois eu c sou justamente
u cuntrrio da bice-bersa.
Eu baim sei qu'ela m'ilode
105
eu baim sei qu'ela m'ingana
fazendo coisas biulentas;
mas um dia a coisa isplode
e anto meto-lhe eu m gana
um par de coices nas bentas!192
O mesmo processo criativo foi utilizado em outra seo, chamada
"Zubblemendto Allemanho". O poema trata da falta de gneros alimentcios no
Rio de Janeiro, fato que realmente assolava a cidade naquele ano de 1947. A
autoria do poema atribuda ao poeta Augusto Freterrika Schmidt.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Game? mas onde que deng
bra a chende bode gompr?
A chende vai numa asougue
e oufe: game nong h!
Bong?qual este batarra
que deng? Adonde, rabis?
A chende gorre lichrra
bra o fila mas nong deng mais!
Leide? neng est pong bens.
Se brugurra a tia indrra;
nong deng neng no leidarra
e neng no Vaca Leidrra!
Pnha? fika kala-pca!
Se foce fala te p n ha
veng o bolsia e te bga
ou entong foce abanha!
Pnha, leide, bong e game
sautades que a chende deng
laqueies dempos tidosos,
dempos que nunga mais veng!193
A obra do Baro de Itarar exerceu grande influncia no humorismo
brasileiro, principalmente na gerao seguinte, que teve grande importncia
durante a ditadura militar de 1964 a 1984. Essa ridicularizao direta de
autoridades, o mpeto inocente-trocadilhista, o formato leve do seu jornal e o
descortinamento da pseudointelectualidade podem ser encontrados ainda hoje em
vrios humoristas. Mas a sua agitao, a sua complexidade interior se
192
193
ITARAR, Baro de. A manha, 3 de janeiro de 1946.
Idem. 5 de janeiro de 1947.
106
exteriorizando de forma to produtiva raramente encontrada. O que afirma Elias
Saliba, embora se referindo ao humorismo do incio do sculo, serve bem para a
relao de Apporelly com o mundo: O humor permitia, tanto na vida cotidiana
quanto nas situaes coletivas, livrar-se, pela irreverncia, de autoridades e gestos
incmodos, de si mesmo ou dos outros.194
Assim como Vinicius de Moraes fez da prpria vida uma pulsante
manifestao potica, pode-se dizer que Apporelly fez o mesmo quanto ao
humorismo. rfo, perseguido, espancado pela polcia, preso injustamente,
censurado, infeliz nos casamentos, endividado, sem dinheiro, solitrio. Converteu
os pesares humanos numa obra extremamente graciosa e ldica, sem deixar de
apontar para as questes poltico-sociais que o cercavam, realizando uma perfeita
simbiose entre a prpria indignao com a vida (mas sem querer se vingar dela) e
a tentativa de explicar o mundo (consciente de que no iria mud-lo). Um
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
autntico humorista do sculo XX, segundo as caractersticas que j enumeramos
anteriormente. Pelas suas prprias palavras:
O humorismo consiste em mostrar o outro lado das coisas, o lado que o povo no
v. No v mas sente. Alm disso, o humorismo no deve ser usado apenas em
assuntos fteis. Eu quero mostrar a nossa misria de forma leve.195
Segundo o filsofo Leandro Konder, Itarar era, visceralmente, um
humorista poltico.196 Porque mostrar a misria de forma leve na verdade
mostrar a misria para quem se nega a v-la integralmente. A linguagem
humorstica, nesse caso, usada de forma tendenciosa, no necessariamente para
provocar o riso, mas a fim de despertar um novo tipo de conscincia, uma nova
viso, pondo, de uma forma ldica, as coisas que o povo v diante daquele outro
lado. Para Michael Mulkay, humorous discourse is designed to make impossible
any firm distinction between real and unreal, between actual and non-actual.197 O
humor, assim, fica localizado num entrelugar, num vo entre a nossa realidade e
aquela onde ele criado. Requer movimento para se realizar, um movimento entre
o que se sabe e o que pode vir a saber.
194
SALIBA, Elias. Op. cit., p. 364.
Apud SS, Ernani. Baro de Itarar, p. 90.
196
KONDER, Leandro. Baro de Itarar., p. 34.
197
MULKAY, Michael. Op. cit., p. 46. [o discurso humorstico projetado para impossibilitar
qualquer distino firme entre real e irreal, entre atual e no-atual].
195
107
Nesse contexto de liberdade e questionamento, o Modernismo surgia
carregado de um humor questionador da tradio literria e preocupado com as
questes sociais. Um texto carregado de humor e apontamento social como Ode
ao burgus, de Mrio de Andrade, publicado em Paulicia desvairada, de 1922,
constituiu um dos poemas fundamentais do Modernismo:
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Eu insulto o burgus! O burgus-nquel
o burgus-burgus!
A digesto bem-feita de So Paulo!
O homem-curva! O homem-ndegas!
O homem que sendo francs, brasileiro, italiano,
sempre um cauteloso pouco-a-pouco!
Eu insulto as aristocracias cautelosas!
Os bares lampies! Os condes Joes! Os duques zurros!
Que vivem dentro de muros sem pulos,
e gemem sangue de alguns mil-ris fracos
para dizerem que as filhas da senhora falam o francs
e tocam os Printemps com as unhas!
Eu insulto o burgus-funesto!
O indigesto feijo com toucinho, dono das tradies!
Fora os que algarismam os amanhs!
Olha a vida dos nossos setembros!
Far sol? Chover? Arlequinal!
Mas as chuvas dos rosais
O xtase far sempre Sol!
Morte gordura!
Morte s adiposidades cerebrais!
Morte ao burgus-mensal!
Ao burgus-cinema! Ao burgus-tiuguiri!
Padaria Sussa! Morte viva ao Adriano!
- Ai, filha, que te darei pelos teus anos?
- Um colar... - Conto e quinhentos!!!
- Ms ns morremos de fome!
Come! Come-te a ti mesmo, oh! Gelatina pasma!
Oh! Pure de batatas morais!
Oh! Cabelos na ventas! Oh! Carecas!
dio aos temperamentos regulares!
dio aos relgios musculares! Morte infmia!
dio soma! dio aos secos e molhados
dios aos sem desfalecimentos nem arrependimentos,
sempiternamente as mesmices convencionais!
De mos nas costas! Marco eu o compasso! Eia!
Dois a dois! Primeira posio! Marcha!
Todos para a central do meu rancor inebriante!
dio e insulto! dio e raiva! dio e mais dio!
Morte ao burgus de giolhos,
cheirando religio e que no cr em Deus!
108
dio vermelho! dio fecundo! dio cclico!
dio fundamento, sem perdo!
Fora! Fu! Fora o bom burgus!...198
Uma potica dessa envergadura, para ser dita em voz alta, exclamada,
traduz uma dico das mais transgressoras. A fim de banalizar a figura do
burgus, a tradio poderosa e canhestra situada em So Paulo, mesclou
elementos como adiposidade cerebral, partes do corpo (ndegas, carecas), o
recurso da repetio (dio), gerando um texto custico e risvel. Esses elementos
seriam muito presentes no Modernismo. Vejamos de forma um pouco mais detida
como esse processo de incorporao do humor e as relaes entre tradio e
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
ruptura que se fundaram durante a aps a Semana de 22.
4.2 - Vanguardas e retaguardas
A peleja tradio versus ruptura segue como um movimento pendular
desde, pelo menos, Horcio. Na sua Arte potica, ensinava: Como poeta, ou
segue a tradio ou segue o que coerente consigo.199 Durante o chamado
sculo de ouro da poesia romana, em que poetas comeavam a se preocupar
mais com uma certa performance200 do que propriamente com o apuro no trabalho
com a palavra, Horcio buscou voltar aos mestres gregos em busca de equilbrio
entre ruptura e tradio. Acreditava que o contedo que determinava a forma de
expresso, e assim seria alcanada essa coerncia do poeta com a obra.
Vinte sculos depois, os vrios movimentos pendulares que impulsionaram
a trajetria da poesia lhe conferiram um aspecto de movimento continuamente
cclico entre o velho e o novo. As vanguardas poticas do incio do sculo XX,
com seus mltiplos e variados objetivos, tiveram quase todas o ponto em comum
de atacar a subjetividade humana rumo a uma operao com a palavra. Ortega y
198
ANDRADE, Mrio de. Poesias completas. P. 88.
HORCIO. Arte potica. P. 30.
200
Sabemos que o termo hoje designa uma ampla rede de possibilidades de trabalho com o corpo e
a palavra, mas tambm no raro encontrarmos pela cidade poetas com loquaz vertente
declamatria e/ou corporal que no so capazes de escrever sequer uma redondilha.
199
109
Gasset afirma que a metfora um instrumento radical de desumanizao: Antes
se vertia a metfora sobre a realidade (...) agora (...) se trata de realizar a
metfora.201
A prpria poesia passa a ser o objeto de ateno, no aquilo sobre o que
ela versa, a no ser que se trate de algo propositadamente inusitado e alrico. Sem
precisar de um tamanho tradicionalmente pr-fabricado para guardar os versos, a
ideia de verso livre traduzia diretamente, ela mesma uma metfora da vanguarda,
a liberdade como um todo que se tanto buscava. A intuio e as formas fixas
haviam se tornado mecnicas. Mallarm j havia mencionado a insuficincia dos
tradicionais dodecasslabos na sua lngua: Os fiis ao alexandrino, nosso
hexmetro, descerram interiormente esse mecanismo rgido e pueril em sua
medida; o ouvido (...) experimenta um gozo ao discernir, sozinho, todas as
combinaes possveis de doze timbres entre si. 202
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
No Brasil, a influncia das vanguardas europeias culminou na necessidade
de renovao das nossas artes somada a uma nova busca da nacionalidade, no
por acaso cem anos aps o Grito do Ipiranga. A Semana de Arte Moderna,
realizada em fevereiro de 1922 no Theatro Municipal de So Paulo, foi
iconoclasta por excelncia e negava radicalmente as contribuies do passado.
Mrio de Andrade, um dos que estiveram frente do movimento, no trazia para
si a autoria do evento: Quem teve a ideia da Semana de Arte Moderna? Por mim
no sei quem foi, nunca soube, s posso garantir que no fui eu.203 Mas foi ele
quem apresentou as normas iniciais do modernismo, afirmando que o movimento,
no Brasil, foi uma ruptura, foi um abandono de princpios e de tcnicas
consequentes, foi uma revolta contra o que era a Inteligncia nacional.204
Buscava-se, assim, quebrar quaisquer traos de subordinao acadmica,
espritos conservadores e conformistas, em prol da pesquisa de linguagem esttica
e a criao (ou, melhor dizendo, atualizao) da inteligncia e sentido de
nacionalidade.
No seu Prefcio interessantssimo, Mario a todo tempo ataca os
parnasianos, mas ao mesmo tempo reconhece a grandeza de Bilac, ao passo que
201
GASSET, Ortega y. A desumanizao da arte. P. 42.
MALLARM, Stephane. A crise do verso. P. 152.
203
ANDRADE, Mrio. Aspectos da literatura brasileira. P. 234.
204
Idem. P. 235.
202
110
no parece to firme no seu versilibrismo. Mesmo com tom de ironia, apresenta
um soneto de formato clssico que havia feito na infncia e assume lanar mo
das redondilhas e decasslabos (Acontece a comoo caber neles. Entram pois s
vezes no cabar rtmico dos meus versos.205). Esse tratamento um tanto
amaciador para quem prope uma ruptura como princpio artstico. Talvez o
prprio movimento modernista, aps a Semana, no tenha se sustentado com
essas bases para levar a cabo as propostas iniciais e tenha sido necessrio se
desdobrar em outras vertentes menos radicais. Vejamos.
Segundo o crtico nio Tavares, na sua Teoria Literria, a partir de 1925 o
Modernismo se fragmentou em vrias correntes. Dentre elas, destacamos os
desvairistas (em referncia ao Prefcio Interessantssimo), que buscavam a
pesquisa esttica, a renovao da poesia e a valorizao da lngua nacional. A
revista Klaxon deu voz esse grupo, formado, alm de Mario, por nomes como
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Srgio Milliet, Prudente de Morais e Srgio Buarque de Holanda. As vertentes
nacionalista e primitivista, que se apresentavam nas revistas Antropofagia, no
poema-manifesto Pau Brasil de Oswald de Andrade, nos livros Cobra Norato
de Raul Bopp, no Raa de Guilherme de Almeida, Martim Cerer de Cassiano
Ricardo, dentre outros, reivindicavam a nacionalizao da nossa literatura e
valorizao do folclore e dos mitos indgenas, em detrimento de uma inspirao
que viesse unicamente da Europa. Esse ponto interessante e traz um certo
paradoxo em relao prpria inspirao do modernismo, em grande parte
advindo do futurismo de Marinetti. Num artigo explosivo, Oswald teria se
referido a Mrio de Andrade como meu poeta futurista, epteto que o prprio
Mrio tentaria negar no Prefcio interessantssimo.
Dentre tantas contradies, no seria difcil encontrar ainda na dcada de
1920 vertentes que situassem os modernistas com um projeto menos demolidor e
mais construtivo. Guilherme de Almeida seria um desses, cuja potica atravessaria
o movimento modernista desde o seu incio at assumir uma obra independente e
que no teria, primeira vista, trao algum com os movimentos de vanguarda.
Antes de entrarmos nos detalhes dessa obra de Guilherme de Almeida,
cumpre-nos refletir acerca do aspecto dbio entre tradio e ruptura que encerra
essa dualidade das vanguardas poticas lato sensu e a compreenso desses
205
ANDRADE, Mrio. . Poesias completas. P. 66.
111
movimentos no contexto brasileiro. Segundo Peter Brger, as vanguardas
europeias tinham o objetivo de atacar uma arte burguesa, e associar a
manifestao esttica a uma prxis das pessoas: Tal fato no ocorreu e, na
verdade, nem pode ocorrer na sociedade burguesa (...)206 Se a proposta inicial de
transpor para a vida ordinria uma funo da arte na sociedade falhou de certa
forma, h que se buscar o que da tradio no necessariamente burguesa e
social, mas no mbito interno da poesia acaba utilizando esse movimento como
um novo impulso.
Podemos compreender o sentido etimolgico de vanguarda (avant garde)
como esse grupo de artistas que segue na frente abrindo caminho para os demais.
O poeta e filsofo Antonio Cicero afirma que novos meios de se ver e fazer arte
no significa necessariamente uma ruptura, mas um processo natural de renovao
esttica:
(...)
embora
toda
vanguarda
seja
experimental,
nem
todo
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
experimentalismo vanguardista. Tendo cumprido sua funo liberadora, a
vanguarda deixa de existir.207 Compreende-se, ento, que os desdobramentos do
grupo modernista em diferentes linhas de atuao faz parte de um processo de
crescimento e, por que no dizer, de desenvolvimento da poesia brasileira.
Para Octavio Paz, no seu famoso texto A tradio da ruptura, ocorre de
fato esse movimento cclico entre o novo e o velho, num tipo frequente de
engrenagem que move a histria da poesia:
Na histria da poesia no Ocidente, o culto ao novo, o amor pelas novidades, surge
com uma regularidade que no me atrevo a chamar cclica, mas que tampouco
casual. H pocas em que o ideal esttico consiste na imitao dos antigos; h
outras em que se exalta a novidade e o inesperado.208
E o humor foi um dos recursos com que se transitava entre a tradio e
ruptura nesse perodo, ora cambiando para um lado, ora para outro. E justamente
por isso o novo nem sempre foi bem visto. Nos primeiros anos aps a Semana de
22, no foi necessariamente uma unanimidade que as inovaes modernistas eram de
fato efetivas na cultura brasileira. So muito conhecidas as oposies de intelectuais
como Monteiro Lobato, que em 1917 publicou no jornal O Estado de So Paulo o
artigo Paranoia ou mistificao? A propsito da exposio Malfatti, criticando
pesadamente uma exposio da jovem artista, ento com 28 anos. Lobato reconheceu
206
207
BRGER, Peter. Negao da autonomia da arte pela vanguarda. P. 113
CICERO, Antonio. Poesia e paisagens urbanas. P. 21.
208
PAZ, Octavio. Os filhos do barro. P. 19.
112
que a artista possua um talento vigoroso, fora do comum, mas no hesitou em
associ-la aos modismos que entravam em voga:
Entretanto, seduzida pelas teorias do que ela chama arte moderna, penetrou nos
domnios de um impressionismo discutibilssimo, e ps todo o seu talento a
servio duma nova espcie de caricatura.
Sejamos sinceros: futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti no passam
de outros ramos da arte caricatural. a extenso da caricatura a regies onde no
havia at agora penetrado. Caricatura da cor, caricatura da forma mas caricatura
que no visa, como a verdadeira, ressaltar uma ideia, mas sim desnortear,
aparvalhar, atordoar a ingenuidade do espectador.209
Interessante como Lobato reconhece um elemento que vai transitar em boa
parte da produo moderna, que a caricatura, ainda que distorcida e com efeitos
negativos. Se a compreendermos no sentido de uma releitura, um jogo de espelhos,
pode-se reconhecer o artigo lobatiano como a primeira crtica a reconhecer um dos
embries do modernismo brasileiro. Toda a polmica em torno do artigo foi um dos
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
elementos que estimularam a criao, anos depois da Semana de Arte Moderna.
Recurso custico por excelncia, a caricatura um artifcio temido pelos
poderosos, por ser considerada instrumento de subverso da ordem. Por meio
dela, ao se chamar a ateno das atitudes irregulares por meio do exagero, abre-se
uma lacuna de conscincia para que se enxergue melhor uma pessoa ou situao.
Da que ela seja temida por aqueles que detm o poder, porque, no geral, ela
resulta das impresses da populao. Conforme aponta Joaquim da Fonseca, a
caricatura , portanto, arma aguada que o povo aplaude ao ver ridicularizadas
nela a fora, o despotismo, o autoritarismo, a intolerncia, a injustia210. Ela
pode ser definida como a expresso grfica ou plstica de uma pessoa, tipo, ao
ou ideia, que interpretada de forma distorcida, em seu aspecto jocoso ou
grotesco. Em mbito grfico, as caricaturas podem ser divididas em categorias,
como pessoal ou de situao e podem ser divididas em charge, cartum, desenho
de humor, tira cmica, histria em quadrinhos de humor e caricatura
propriamente dita, ou seja, caricatura pessoal (quando uma pessoa ou
personalidade captada pelo caricaturista). O termo caricatura derivado do
verbo italiano caricare (carregar, sobrecarregar, com exagero). Pode-se dizer,
portanto, que Serafim Ponte Grande mira na burguesia hipcrita, mas pelo seu
209
LOBATO, Monteiro. Paranoia ou mistificao? A propsito da exposio Malfatti. O
Estado de So Paulo, 20 de dezembro de 1917.
210
FONSECA, Joaquim da. Caricatura: a imagem grfica do humor. P. 13.
113
conjunto de atributos estticos e estruturais acaba configurando uma pardia da
prpria literatura naquele incio de dcada de 1930, onde as vanguardas e a
prpria Semana de 22 pediam uma revisita.
Nos anos posteriores Semana, no faltaram outras crticas. Em 1925, o
crtico Joo Ribeiro afirmou que o Modernismo no trazia teorias inditas. Anos
depois, o livro de Oswald de Andrade, Serafim Ponte Grande, publicado em 1933, foi
criticado por Ribeiro por no trazer nenhuma inovao que tivesse peso considervel,
e o humor desse livro foi tomado como algo docemente pornogrfico, que devia
ser proibido e permitindo-se ser lido apenas s escondidas, e isso talvez faa o
leitor, picado de curiosidade mals211.
Outras vozes, no entanto, reconheceriam J o crtico Wilson Martins, no
livro O Modernismo, afirma que Jorge Amado considerou o romance Serafim Ponte
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Grande como o grande romance do Modernismo:
[...] Nessas perspectivas, o grande romance do Modernismo seria, para Jorge
Amado, Serafim Ponte Grande, esse arauto da Revoluo que foi, no Brasil,
literria e politicamente, mais que a de 1924, uma revoluo melanclica;
mas sob os ngulos em que aqui se estudam esses problemas, no importam os
resultados e, sim, o estado de esprito.212
Com efeito, nesse livro Oswald leva a cabo as experincias radicais em torno
da estrutura da obra literria, mesclando narrativa, poesia, teatro num livro
fragmentado e marcado pela pulso humorstica. Haroldo de Campos, no ensaio
Serafim: um grande no-livro que foi includo em recentes edies da obra, afirma
que no romance tudo conduzido em pauta pardica, e a pardia (...) o meio
natural para o desnudamento do processo.213 Nesse sentido, entende-se que esse
desnudamento do processo revela que o objetivo principal do romance seja denunciar
a hipcrita sociedade burguesa e para isso, utiliza-se de elementos cmicos que por
meio da pardia, atribuem linguagem dos mltiplos fragmentos de texto o tom
jocoso, j que o romance diferentes recursos para esse fim. Na introduo do livro,
Oswald afirma que a obra era um tipo de mirada para trs das suas investidas de
vanguarda, como se com ele encerrasse um ciclo modernista. E como quem est no
final de uma jornada, a irreverncia no sentido mesmo de no se curvar deu o
tom de Serafim Ponte Grande:
211
Apud COUTINHO, Afrnio. Op. Cit., p. 517.
MARTINS, Wilson. O Modernismo. pp 132-133.
213
Apud ANDRADE, Oswald. Op. Cit. Pp 102-103.
212
114
Ficou da minha este livro. Um documento. Um grfico. O brasileiro -toa na
mar alta da ltima etapa do capitalismo. Fanchono. Oportunista e revoltoso.
Conservador e sexual. Casado na polcia. Passando de pequeno-burgus e
funcionrio climtico a danarino e turista. Como soluo, o nudismo
transatlntico. No apogeu histrico da fortuna burguesa. Da fortuna maladquirida.
Publico-o no seu texto integral, terminado em 1928. Necrolgio da burguesia.
Epitfio do que fui.214
E assim que logo no incio o tom jocoso e anedtico comea a dar o
tom do livro. Nas primeiras pginas, a experincia de Serafim com as palavras j
apontam para as possibilidades espelhadas de entendimento dos signos, mesmo
nos primeiros elementos do processo de alfabetizao:
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
PRIMEIRO CONTATO DE SERAFIM E A MALCIA
Aeiou
Ba Be Bi Bo Bu
Ca Ce Ci Co Cu215
Esse primeiro poema, ao construir uma analogia do abecedrio com o
sentido jocoso e flertando com o universo chulo, j executava o expediente que
Oswald anunciou na introduo da obra, conservador e sexual, termos que
podem ser contraditrios e ao mesmo tempo indicadores de uma postura de
reescrita da tradio e do convencional.
No enredo, o narrador-personagem Serafim Ponte Grande apresenta-se em
tom cmico, como um homem de sensibilidade que anseia escrever um livro, mesmo
no possuindo conhecimento cultural ou mesmo demonstrando vocao para isso. O
personagem funcionrio pblico da Repartio Federal de Saneamento, o que o
coloca numa posio social de classe baixa.
As principais personagens da obra, alm do protagonista, so: Dona Lal,
esposa de Serafim; Benevides, pai de Lal; Tonico e Batatinha, mencionados como
ex-namorados de Lal; Jos Ramos Gis Pinto Caludo, colega de servio, amigo e
secretrio de Serafim Ponte Grande; Pery Astiages (Pombinho), filho de Serafim e
Lal; Benedito Carlindoga, chefe da repartio pblica onde Serafim trabalha;
Celestino Manso, colega de trabalho de Serafim que termina ao lado de Dona Lal;
Dorotia Gomes, atriz e paixo de Serafim; Birimba, colega de trabalho de Serafim,
214
215
ANDRADE, Oswald. Serafim Ponte Grande. P. 119.
ANDRADE, Oswald. Op. Cit., P. 121.
115
que tem um caso amoroso com Dorotia; Dinor, mulher que teve com Serafim um
relacionamento sexual no Rio de Janeiro; Mariquinhas Navegadeira, tripulante que
estava no navio Rompe-Nuve e que se envolve com Pinto Caludo; Dona Branca
Clara, senhora que se encanta por Serafim na viagem martima; Dona Solanja, dama
por quem Serafim inicia uma paixo que no realizada, mata Dorotia e linchada;
Pafuncheta, lsbica que confunde Serafim com um clarinetista, amante de CaridadClaridad; Caridad-Claridad, lsbica que tem relacionamento sexual com Serafim.
Casou-se com Lal por obrigao e tinha o matrimnio como um dever pesado que
o amarrava; afirmava no querer filhos, mas teve vrios, entre os quais Pombinho, o
que mais ganha destaque no livro.
Os nomes dos personagens j deixam claro o tom humorstico. O sentido do
humor muitas vezes se apresenta tambm em palavras isoladas, especificamente em
nomes prprios que associam o humor e o ridculo, recurso que no exclusivo de
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Oswald de Andrade, pois comum que autores de obras humorsticas utilizem essa
estratgia ao compor seus personagens. Nessa perspectiva, no texto literrio, as
possibilidades de encontrar nomes inusitados so ampliadas pela liberdade potica,
recurso muito utilizado por Oswald de Andrade na tentativa de explorar o riso no
romance. Segundo Propp, os nomes cmicos so um procedimento estilstico
auxiliar que se explica para reforar o efeito cmico da situao, do carter ou da
trama.216
Por meio da linguagem pardica, Serafim escreve um falso testamento, e,
depois de ficar rico, viaja para o Rio de Janeiro. Em seguida, vai com Pinto Caludo
em um transatlntico de luxo passear pela Europa e sia, onde vivencia o nudismo,
orgias e cultua a liberdade, transgredindo valores sociais e religiosos, explicitados
principalmente pelos relatos de envolvimentos sexuais. Na viagem, conhece vrias
mulheres e relaciona-se sexualmente com muitas delas, como Dinor, CaridadClaridad, Tzatz, Chipett, Ded, Madame Xavier (Senhora Cocana), a aluna, Maudy
Polpuda (a cabauda de chez Cabassud) e Branca Clara; cansa-se e deseja retornar
ao Brasil. Logo em seguida, morre de maneira triunfante e homenageado pela
famlia com a construo do hospcio, denominado Asilo Serafim. Naturalmente,
percebem-se traos de autofico na obra, especialmente nas viagens Europa e as
aventuras sexuais, fatos conhecidos da vida de Oswald de Andrade.
216
Propp, Vladmir. Op. Cit. P. 131.
116
Vale lembrar que o Serafim Ponte Grande de Oswald foi a referncia para
a criao do j citado Stanislaw Ponte Preta, o heternimo mais famoso do
jornalista Srgio Porto (1923-1968), que observou as contradies brasileiras,
especialmente no perodo entre o Golpe Militar e a instaurao do AI-5 (19641968) com olhar humorstico, cujo resultado foi reunido em obras que se tornaram
muito lidas nas ltimas dcadas, como Febeap Festival de besteiras que
assolam o pas. Essa mscara humorstica de Stanislaw foi to forte que se tornou
at mais conhecida do que o prprio rosto que estava atrs. A influncia do livro
de Oswald foi to influente no jornalista que criou um dos olhares mais atentos da
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
literatura brasileira.
4.3 - Uma vanguarda bumerangue: Guilherme de Almeida
Dentre os precursores da Semana de Arte Moderna de 1922, figurava
Guilherme de Almeida. Nascido em So Paulo em 1890, comeou a publicar seus
poemas em 1917, sob o pseudnimo de Guidal, com forte vis parnasiano, como
se nota num dos sonetos que seriam mais conhecidos e decorados pelos seus
leitores:
Fico - deixas-me velho. Moa e bela,
partes. Estes gernios encarnados,
que na janela vivem debruados,
vo morrer debruados na janela.
E o piano, o teu canrio tagarela,
a lmpada, o div, os cortinados:
"Que feito dela?" - indagaro - coitados!
E os amigos diro: "Que feito dela?"
Parte! E se, olhando atrs, da extrema curva
da estrada, vires, esbatida e turva,
tremer a alvura dos cabelos meus;
117
irs pensando, pelo teu caminho,
que essa pobre cabea de velhinho
um leno branco que te diz adeus!217
Cabe mencionar que a escolha do soneto clssico com decasslabos
heroicos e chave de ouro por parte de um autor dito modernista no seria
exclusiva de Guilherme de Almeida. Sabe-se que, dentre os representantes do
grupo de 22, muitos que permaneceram foram exmios sonetistas, cujos quartetos
e tercetos continuaram sendo produzidos to logo assentasse a poeira da Semana.
A partir da dcada de 1930, o soneto se revigorou numa produo intensa e
popular: que o digam Manuel Bandeira (1896-1968), Carlos Drummond de
Andrade (1902-1987), Vinicius de Moraes (1913-1980) e tantos outros.
O que nos interessa aqui que um autor com essa veia lrica tradicional
seria um dos precursores da Semana de Arte Moderna e faria parte do projeto
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
modernista, pelo menos nos primeiros anos ps-22. Alfredo Bosi, na sua
referencial Histria concisa da literatura brasileira, afirma que a participao de
Guilherme de Almeida no modernismo foi pequena, por conta desse carter
tradicional da obra do poeta. Afirma que ele pertenceu s episodicamente ao
movimento de 22. No havendo partido do esprito que o animava, tambm no
encontrou nele pontos definitivos de referncia esttica.// Sua cultura, seu
virtuosismo, suas aspiraes morais vinham do passado e l permaneceram.218
Mas o prprio Bosi, mais adiante, cita os poemas em versos livres que
foram escritos aps da Semana de 1922, quem integrariam o livro Raa, ainda que
se tratasse de maneirismo do moderno, passageiro. Os livros posteriores
retomaram os antigos caminhos parnasiano-decadentes (...)219
Voltemos ao perodo que antecede a Semana de 22. Guilherme foi quem
descobriu o Carnaval de Manuel Bandeira e o apresentou aos outros modernistas.
Em Contramargem, Gilberto Mendona Teles nos lembra que o autor de Ns era
amigo de Oswald de Andrade, com quem escreveria um primeiro livro com duas
peas de teatro, em 1916 (Thtre Brsilien Mon Coeur Balance. Leur me).
Parece que as afinidades pessoais e estticas precediam a necessidade da
217
ALMEIDA, Guilherme de. Poesia vria. P. 47
BOSI, Alfredo. Histria concisa da literatura brasileira. P. 419.
219
Idem. P. 420.
218
118
vanguarda, e talvez justifiquem a presena constante de Guilherme de Almeida
nos momentos que precederam o estouro do modernismo no Brasil.
Futuramente, Bandeira continuaria rendendo elogios a Guilherme,
afirmando que ele o maior artista do verso em lngua portuguesa. Gilberto
arrisca dizer que o elogio tambm serviria ao prprio Bandeira, uma vez que as
qualidades encontradas iriam constituir uma forte marca na obra do prprio autor
de A cinza das horas: Realmente, ele brinca com todos os recursos de tcnica j
conhecidos, inventa a cada passo novas combinaes surpreendentes, faz o que
quer, positivamente o que quer.220
Mrio de Andrade afirmou, dcadas depois da Semana de 22, que
Guilherme era um dos mais equilibrados e com esprito construtivo: Em So
Paulo, esse ambiente esttico s fermentava em Guilherme de Almeida e num Di
Cavalcanti pastelista, menestrel dos tons velados como o apelidei numa
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
dedicatria exdrxula.221 Temos aqui outro ponto de contradio com o projeto
destruidor do movimento modernista.
Na conferncia de inaugurao da Semana de 22, Graa Aranha no deixa
de citar a potica de Guilherme como um dos exemplos das rupturas que estariam
por vir:
o poeta de Messidor, cujo lirismo se destila sutil e fresco de uma longnqua
e vaga nostalgia do amor, de sonho e de esperana , e que, sorrindo, se
evola da longa e doce tristeza para nos dar nas Canes Gregas a magia de
uma poesia mais livre do que a Arte.222
A descrio da poesia no poderia parecer mais tradicional, evocando os
gregos e uma certa frescura longnqua de amor. Para uma proposta que tinha,
como vimos, um objetivo inicial de ruptura e demolio, a participao de
Guilherme de Almeida parecia um grande contrassenso.
Na ocasio da Semana, Guilherme estava escrevendo o livro a que se
refere Graa Aranha, A frauta que eu perdi (Canes gregas), que sairia em 1924.
Essa contradio da poesia helnica com o projeto modernista foi observada por
Ldo Ivo como uma estratgia para que Guilherme aplicasse seu prprio conceito
de modernidade, em artigo no jornal O Estado de So Paulo, em 1971:
220
TELES, Gilberto Mendona. Contramargem. P. 148.
ANDRADE, Mrio. Op. cit. P. 235.
222
TELES, Gilberto Mendona. Vanguarda europia e modernismo brasileiro. P. 420.
221
119
Por mais paradoxal que isso possa parecer, as canes gregas de A frauta que eu
perdi (1924) marcam sua adeso ao movimento, o que no deixa de possuir a sua
fmbria de malcia. Nessas canes, Guilherme de Almeida, sob a compulso do
clima intelectual da poca, despe-se do seu envoltrio parnasiano e passa a lidar
com timbres novos ou rejuvenescidos que possuem algo de matinal como se
seus versos lmpidos e flexveis estivessem cobertos de orvalho. (...).223
De fato, Guilherme tambm seria um dos criadores da revista Klaxon,
uma das publicaes mais marcantes do nosso movimento modernista. Entre maio
e dezembro de 1922, os oito nmeros da Klaxon contaram com a participao
do poeta. Consta que inclusive foi dele a ideia da capa, optando pelo A da palavra
que cortaria toda a pgina. Tambm foi dele a concepo do anncio de ltima
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
pgina da revista, conforme segue abaixo:
Essa preocupao com a apresentao visual parece ter sido uma das
marcas de Guilherme, que teria participao em todas as capas dos seus livros,
selecionando cuidadosamente imagens e fontes. Segundo entrevista do seu amigo
Paulo Bonfim224, esse aspecto seria precursor da obra dos concretos, em especial
nas pesquisas de Haroldo de Campos. Temos, portanto, mais um elemento que
move o pndulo vanguarda-tradio na obra de Guilherme de Almeida, dessa vez
at mais frente do movimento de que ele, de fato, participou.
223
224
http://literalmeida.blogspot.com/2009/07/julho-mes-guilherme-de-almeida.html
disponvel em http://www.youtube.com/watch?v=lyKIjld44GU
120
A contribuio de Guilherme nesse nmero foi com um poema que mais
tarde faria parte de A frauta que eu perdi. As Canes gregas j anunciadas por
Graa Aranha na conferncia de abertura da semana situariam o poema como um
exemplo claro de texto vanguardista e livre. Como podemos ver abaixo, somente
por via irnica podemos entender os termos saudade e canes gregas como
uma ruptura com o passado e olhar para o futuro. Em termos formais, o poema
dividido em duas estrofes, com seis e cinco versos. Observamos um sistema de
rimas toantes (rsea/porosa, verde/sede, bruma/noturna, boca/fosca), uma rima
pobre de palavras quase homfonas (gelada/exilada) e um verso permeado pela
eufonia (que foi o espelho das estrelas). Em termos mtricos, temos na primeira
estrofe um verso de oito slabas, seguido por um decasslabo com ictos na quinta e
dcima slabas, correspondente a um verso primitivo da pica francesa225, um de
seis, um de doze slabas, um de cinco e outro de oito; na segunda estrofe, aps
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
uma conteno presente num verso de trs slabas, seguem-se trs alexandrinos,
conferindo ao poema um final dos mais clssicos e tradicionais.
225
Cf. LARANJEIRA, Mrio. Potica da traduo: do sentido significncia. P. 133.
121
Como estivesse frente da revista, naturalmente contribuiu com a redao
do editorial. Alm de todas as prerrogativas da Semana de 22 contidas nessa
apresentao, vale mencionar pelo menos um pargrafo especfico que vai de
encontro s temticas do poeta:
KLAXON sabe que a natureza existe. Mas sabe que o moto lyrico, productor da
obra de arte, uma lente transformadora e mesmo deformadora da natureza.226
Ora, como veremos, uma quase louvao apreciadora da natureza foi to
presente na obra de Guilherme de Almeida que no se pode imaginar que ele
tenha usado o termo deformao para se dirigir a ela, ainda que com o sentido
esttico da transformao da realidade pelas mos do artista.
O poeta foi o primeiro dentre o grupo de 22 a entrar para a Academia
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Brasileira de Letras tendo vencido Manuel Bandeira227. No discurso de posse, o
novo membro se utilizou de toda uma alegoria da rvore para situar a poesia do
Brasil e a sua chegada ali. Evocou trovadores provenais e uma sucesso de
comparaes a outros poetas que o precederam na linhagem lrica, inclusive
Amadeu Amaral, a quem viria substituir:
Uma rvore... Ela estava presa terra verde e virgem pelo trabalho mltiplo,
obscuro e secreto das razes pacientes que subiram e firmaram o tronco teso e a
galharia forte: Gonalves Dias, o ritmo brasileiro; rebentara no ar de sol a loucura
das flores estalando de perfume e cor: Olavo Bilac, o lirismo brasileiro; pendera
para o cho guloso a copa redonda e pesada de frutos como uma fronte que cisma:
Amadeu Amaral, o pensamento brasileiro. Rama, flor e fruto que mais lhe
faltava? A inutilidade intrusa, a superfluidade intrometida... O vagabundo leviano e
passageiro que viesse repousar um pouco na sua sombra (...)228
Numa declarao de explcita falsa modstia, Guilherme de Almeida se
coloca humildemente como aquele transeunte que descansa brevemente sob a
sombra de uma tradio suave. No entanto, leitores e a crtica bem sabiam que no
era bem assim. O poeta Olegrio Mariano j havia observado que Guilherme de
226
Klaxon. P. 4.
Bandeira seria eleito dez anos depois para a ABL. Sabe-se que Oswald se candidatou duas
vezes, sem sucesso. Menotti del Picchia foi eleito em 1943. Cassiano Ricardo, em 1937. Alcntara
Machado em 1931. Bem, a essa altura uma das diretrizes do projeto modernista, segundo o qual se
desprezava quaisquer academicismos, j teria ido pelos ares.
228
Site da ABL:
http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=8464&sid=186
227
122
Almeida o uirapuru da rvore da poesia, o Orfeu da floresta...229 Como todos
esses eptetos, evidencia-se mais um dos supostos paradoxos entre a potica de
Guilherme e o projeto modernista.
Seguindo uma tradio de cristal, alis, o poeta foi eleito Prncipe dos
Poetas Brasileiros em 1959. At ento, o concurso era promovido pela revista
Fon-Fon, que elegera para esse trono Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e
Olegrio Mariano. Com o fim da revista, a herana do concurso foi passada para o
jornal Correio da Manh, um dos mais influentes da poca, que iria conferir o
ttulo a Guilherme.
Um dos aspectos mais importantes da obra desse poeta que,
paralelamente dana contnua com a tradio, ele buscava adicionar elementos
novos literatura brasileira. Uma contribuio das mais importantes foi a
popularizao do hai-kai no Brasil. Embora os versos japoneses j tivessem sido
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
apresentados por aqui em 1919 por Afrnio Peixoto, no livro Trovas populares
brasileiras, foi Guilherme de Almeida que no s popularizou o hai-kai, como
criou um sistema prprio de rimas para esses poemas. Distribuiu as dezessete
slabas nos trs versos com um esquema em que o primeiro rimaria com o
terceiro, e o segundo verso teria uma rima interna da segunda com a stima slaba.
Vejamos alguns exemplos:
Histria de algumas vidas
Noite. Um silvo no ar.
Ningum na estao. E o trem
passa sem parar.
Infncia
Um gosto de amora
comida com sol. A vida
chamava-se Agora.
Velhice
Uma folha morta.
Um galho no cu grisalho.
Fecho a minha porta.230
229
230
http://literalmeida.blogspot.com/2009/07/julho-mes-guilherme-de-almeida.html
ALMEIDA. Guilherme de. Poesia vria. PP. 56-59.
123
Nesse formato conciso coube precisamente a vertente lrica de Guilherme de
Almeida, cujos hai-kais se tornariam modelares para um squito de poetas.
Na obra do poeta, como um todo, foi marcada ento por esse pendor lrico e
criativo. Nessa seara vasta e diversificada, encontramos versos mais pueris e com
certa influncia de um amor corts, como os que compem o curto livro Cartas
que eu no mandei, publicado dez anos aps a Semana de 22:
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
As minhas mos esto com saudade das tuas...
Ellas eram to frias: frias como duas
Conchas em que meu beijo lento parecia
Uma perola quente, e onde eu, tmido, ouvia
O echo do corao que vinha se quebrar
Em ti, como se escuta o soluo do mar
Nas conchas exiladas...231
Ora encontramos metapoemas em que os versos so trabalhados
habilmente com um sentido ldico, como no livro Voc, que contm desenhos de
Anita Malfati. Aqui, as prprias rimas se tornam o objeto central da construo do
poema, explorando desde as rimas pobres at as riqussimas:
Cantiga das Rimas Pauprrimas
Pobre cantiga prevista
Sem ritmo novo nenhum,
Sem uma rima imprevista
E sem pensamento algum.
Cantiga sem interesse
Que algum fez para ningum,
Com todo o desinteresse,
E em que ningum sente algum.
Pobre cantiga sem gosto,
Sempre a mesma, sempre igual,
Sem prazer e sem desgosto
Sem nada bem desigual.
cantiga indiferente,
Sem motivo e sem um fim,
Sem nada de diferente,
De bom ou de mal, enfim!
Minha cantiga... Portanto,
Pobre cantiga infeliz,
To parecida, entretanto,
Com minha vida infeliz.232
231
ALMEIDA, Guilherme de. Cartas que eu no mandei. Pp 8-14..
124
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Berceuse das Rimas Riqussimas
Durma! A noite suave e grande
Anda com passos de l de
Luar, de penugem de nuvem...
Durma! Em seu corpo alvo e nu vem
Roar as asas um ar de
Jardins distantes... tarde.
Durma sombra dos meus olhos
Como de uma rvore, e molhe os
Seus sonhos nas minhas lgrimas,
No esperando um milagre, mas
Sentindo que o mal e o bem so
Uma nica e mesma bno...
Durma! E que a minha voz seja
Uma voz que s voc j
Ouviu em sonhos: a voz que
A Adormecida no Bosque
Nunca escutou no seu sono...
Durma! E sonhe que eu no sou no
Mundo mais do que silncio...
Este silncio que vence o
Meu corpo e brotou do
Seu corpo e que o envolve todo...233
Desse modo, a potica de Guilherme de Almeida precisa ser compreendida
dentro de um projeto construtivo dentro do projeto modernista. Ainda que fizesse
parte do grupo precursor da Semana de 22 e tivesse feito parte de todos os
momentos decisivos dessa poca, o poeta contrariou pelo menos um primado do
movimento: a destruio. Em vez disso, buscou dialogar com a tradio numa
proposta renovadora, mas sem extremismos. Em discurso na ABL, em 1959,
relembra sua proposta da poca:
E como nos renovamos! Estouvada e irreverente, porque moa, e, porque moa,
sincera e entusistica, formou-se a irreverente Legio dos Ex. Ex-clssicos, uns;
ex-parnasianos, outros; estes, ex-simbolistas; aqueles, ex-penumbristas...
Renunciando s facilidades proveitosas da popularidade, todos nos alistamos na
incompreendida Legio; a que alegremente queria fazer de sua poesia uma
expresso de sua Ptria.234
232
ALMEIDA, Guilherme de. Voc. P. 63.
Idem. P. 65.
234
COUTINHO, Afrnio (org.) A literatura no Brasil. p. 314.
233
125
As contradies encontradas na sua potica so, portanto, decorrentes de
uma escolha coerente em torno da sua produo. Retomando a questo colocada
por Horcio no incio deste subcaptulo (Como poeta, ou segue a tradio ou
segue o que coerente consigo.), pode-se dizer que Guilherme de Almeida
seguiu por ambas. Esse movimento de vaivm seguiu um ponto at de certa forma
coerente. Antecipou uma vertente que voltaria ao verso livre, ainda que recebendo
a nomenclatura de poetas modernos, e com uma obra marcada pelo dilogo da
tradio com o tempo em que viviam, como Vinicius de Moraes, Ceclia Meireles,
Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, apenas para citar alguns.
Apesar da imensa popularidade que teve, especialmente em So Paulo,
possvel que o poeta no seja colocado pela crtica no mesmo rol dos supracitados
pelo seu excesso de habilidade com o verso, se que se pode dizer assim. Na A
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
literatura no Brasil, Afrnio Coutinho afirma que
A par de um virtuosismo notvel, Guilherme de Almeida dominou a poesia em
todos os seus sentidos e dela fez e faz o que bem quer ou entende. (...) Cames
gostaria, por certo, de ser o autor de muitos dos sonetos de Guilherme de Almeida,
vazados nos mais puro e clssico portugus. 235
Nesse contexto moderno, mesmo com preocupaes de vanguarda, como
vimos, sua potica muitas vezes parece transportar Guilherme de Almeida para
cantadores provenais antigos, e se esse contrassenso se d com extrema
facilidade para o leitor comum, no o mesmo com relao a certa crtica
literria, sequiosa de situar a produo e os poetas e no sabendo o que fazer com
nomes como esse236.
Antes de se tratar de um poeta de um poeta de vanguarda ou de retaguarda,
conclui-se que Guilherme de Almeida participou do principal movimento esttico
do tempo em que viveu, buscando menos ruptura e demolio do que uma
louvao ptria, ao lirismo e ao fazer potico. Nesse caso, houve um
afastamento dos pressupostos modernos em funo de um retorno a moldes
clssicos, como se um bumerangue lanado na primeira edio da Kaxon!
retornasse com velocidade.
235
COUTINHO, Afrnio. Op. cit. PP. 362-363.
Ou mesmo um Mrio Quintana, o qual, alis, afirmava que pertencer a uma escola potica
estar condenado priso perptua.
236
126
Observamos neste captulo que as grandes questes de rupturas do
Modernismo utilizaram o humor, a pardia, o pastiche, a importao de modelos
poticos de fora, abrindo diferentes relaes entre a criao literria em versos e
as possibilidades de maior ou menor grau de utilizao do humor.
A Semana de Arte Moderna de 1922 se expandiu para trs anos. Pois os
entre 1922 a 1925 houve contnua assimilao de ideias novas, de polmicas, de
definies. frente da agitao intelectual da poca esteve Oswald de Andrade,
cujos manifestos apresentaram forte influncia das vanguardas europeias, mas
acrescentando um elementos mais de exportao via sentimento de
nacionalidade e cores locais, com seu tupy or not tupy do que de criar uma filial
dos movimentos do Velho Mundo.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Sob esse aspecto, esse olhar para trs pelo recurso do humor e da ironia
criou um procedimento analgico de vinculao entre palavra e realidade que se
traduziu na construo do poema risvel e que provoca um tipo de conscincia
nova no leitor.
Essa posio crtica do poeta moderno no necessariamente o modernista
gerou um tipo de vinculao social nova. As relaes da poesia de humor na
mdia impressa ao longo do sculo XX se dariam de forma diferente do que se viu
em Emlio de Menezes. E ao mesmo tempo se desvinculou de um projeto esttico
deliberado como foi no Modernismo. Vejamos no prximo o exemplo de um
humorista que lanou mo de uma potica diferente, mas de uma lucidez
lancinante.
127
5
Millr Fernandes: potica ldica e lcida
Nos anos que se prosseguiram aps o Modernismo, o humor arrefeceu um
pouco como recurso potico. Uma gerao de 45 mais sisuda, que revalorizou a
lrica, as formas fixas, os modelos clssicos e mais srios da poesia, pareceu
deixar o riso de lado. Se o concretismo trouxe o jogo se aproximando mais das
artes visuais e da propaganda na dcada de 1950, em 60 se viu um grupo marcado
pelo sincretismo. Dentro das escolas poticas convencionais no se encontrava
com fora o humor em versos.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Durante o governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, todo o pas se
viu imerso num clima de euforia e crescimento. JK prometia mudar a capital para
Braslia em abril de 1960, o Brasil conquistava sua primeira Copa, Joo Gilberto
inventava a Bossa Nova, a indstria automobilstica se instalava no pas, a revista
O Cruzeiro ultrapassava a tiragem de 800 mil exemplares. Enfim, foi um perodo
de opulncia econmico-social que se refletia em praticamente todas as reas,
dando ao humorismo um carter de inocncia e deslumbramento. Havia, certo,
uma crtica aos costumes, como demonstra a produo de Stanislaw da dcada de
50, focalizada nos aspectos frvolos do comportamento social, frivolidade
personificada na figura do colunista Ibrahim Sued. Mas uma resposta situao
poltica s se daria aps o golpe de 64, inclusive observvel na prpria obra de
Stanislaw, nos trechos dos Febeaps em que a ditadura flagrada cometendo algo
ridculo, como a proibio da venda de vodca em Braslia para combater o
comunismo237.
Stanislaw Ponte Preta foi o mais famoso heternimo humorstico de Srgio
Porto. Sua obra cobre as dcadas de 1950 e 1960, testemunhando criticamente as
manias e tiques da sociedade, e tambm a transio entre dois momentos
essencialmente contraditrios da situao brasileira. Acompanhou, aps os anos
de crescimento econmico, o esfacelamento da democracia aps o Golpe de 64. O
perodo de 1964 a 1968 foi marcado pela desintegrao gradativa da liberdade de
237
PRETA, Stanislaw Ponte. Febeap 1, p. 11.
128
expresso, ou seja, num primeiro momento ainda era possvel atacar diretamente o
governo militar sem que houvesse represlias ou formas mais agressivas de
censura.
Desse modo, um dos alvos preferidos do humorista era o prprio regime
ditatorial, apelidado por ele de Redentora238. Publicado no jornal ltima Hora,
na coluna Fofocalizando, o Festival de Besteiras que Assola o Pas mostrava um
Brasil somente explicvel via humorismo, como demonstram os vrios flashes de
situaes relacionadas ao sistema poltico: Foi ento que estreou no Teatro
Municipal de So Paulo a pea clssica Electra, tendo comparecido ao local
alguns agentes da DOPS para prender Sfocles, autor da pea e acusado de
subverso, mas j falecido em 406 a. C.239
A publicao de uma atitude dessa ordem poderia levar a pblico o
contrassenso do regime poltico, incapaz de realizar a prpria censura que
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
institura. No s pelo desconhecimento da autoria da pea, como tambm pela
viso paranoica de que ali havia alguma ameaa ao sistema vigente. Na verdade,
os militares viam inimigos por todos os lados. Qualquer atitude um pouco
diferente era motivo para que ali houvesse um esboo de resistncia, fato que no
escapou ao olhar agudo de Stanislaw:
Aqui no Brasil pegou a moda da subverso. Tudo que se faz e que desagrade a
algum considerado subversivo. Outro dia eu vinha andando na rua e um cara,
dirigindo uma Mercedes espetacular, entrou lascado num cruzamento e quase
atropelou um pedestre. Foi o bastante para o andante dar o maior grito:
Subversivo, comunista.240
O trecho acima a introduo da crnica Garotinho corrupto, na qual
um general fechou um jardim de infncia porque achou o nome Pequeno
Prncipe subversivo. Esse texto faz parte do primeiro bloco do livro, composto
por crnicas baseadas em notcias colhidas nos jornais. A observao inicial do
cronista revela que uma paranoia de represso foi de certa forma incorporada ao
comportamento popular, uma vez que os termos subversivo e comunista
adquiriram significado equivalente ao baixo calo utilizado nos insultos de ltima
238
Em determinado momento o apelido comeou a gerar certo incmodo, e os militares iniciaram
uma sutil perseguio, culminando na sada de Srgio do Banco do Brasil, onde trabalhava h mais
de vinte anos. Isso fez com que ele se voltasse com mais fria contra o sistema, criando os
antolgicos Febeaps.
239
PRETA, Stanislaw Ponte. Febeap 1, p. 14.
240
Idem, p. 41.
129
instncia. Essa aquisio dos termos pelo povo demonstra que ele compactuava,
inconscientemente, com o sistema poltico, mesmo que no fundo discordasse
desse sentido pejorativo e da prpria represso.
Stanislaw Ponte Preta foi o herdeiro direto do Baro de Itarar. Ambos
foram personagens criados como heternimos, tal como lentes humorsticas de
Apporelly e Srgio Porto, e acabaram por se tornar maiores at do que os seus
criadores. Sinal de que o humorismo, em determinados autores, pode assumir a
forma primordial de observao do fato histrico-social.
Pelos traos comuns a esses dois humoristas, possvel j caracterizar o
humorismo carioca. No que em outras regies no se fizesse humorismo, mas
alguns fatores foram determinantes para que a produo carioca, principalmente
de cunho poltico, tivesse grande relevncia no cenrio nacional. Elias Saliba faz
essa observao a respeito da obra de Srgio Porto, considerando-a um exemplo
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
do humor tipicamente carioca:
Ponte Preta exemplificou a maneira como o registro cmico brasileiro foi
marcado pelo Rio de Janeiro. Como to bem diagnosticaram, em diferentes
pocas, Raul Pederneiras, Orestes Barbosa e Alberto Lamego. Eles
argumentavam que, no universo da anedota, o carioca indiscutivelmente
soberano em toda a poltica nacional; suas sentenas, pela via das anedotas que
reclamam nosso riso despreocupado, tornam-se inapelveis pela irreverncia do
ridculo. Quase instantaneamente esfuziam por todos os recantos do Brasil, que
com elas assimila o sorriso carioca, a bonomia carioca, a gargalhada carioca.241
O que faria do Rio de Janeiro um lugar to propcio ao humorismo? Para
Maria Ins Gurjo, os fatores geogrficos e scio-histricos contribuiriam para
que o Rio fosse uma espcie de ncleo nacional do humor: Nessa cidade, a
transgresso a norma e s reina a ordem se tudo estiver na mais perfeita
desordem, segundo os padres norteadores de comportamento vigentes na maioria
do mundo ocidental.242 Por ter sido durante tanto tempo a capital federal, alm de
ter sido onde a imprensa oficial nasceu e se expandiu, o Rio atraiu por muito
tempo um grande nmero de intelectuais243, dentre eles humoristas. Junte-se a
esses artistas o famoso jeitinho brasileiro, to presente no povo carioca. Lvia
Barbosa, no seu livro O jeitinho brasileiro, acrescenta que a identidade carioca se
241
SALIBA, Elias. Op. cit., p. 362.
GURJO, Maria Ins. Op. cit., p. 293.
243
Da que a crnica tenha atingido sua poca de ouro no ambiente carioca.
242
130
fez justamente pela assimilao do jeitinho, principalmente se comparado ao
paulista:
Enquanto o primeiro ou bem-humorado, simptico, boa vida, piadista,
preguioso, gosta de samba, chopp, praia, mulher e carnaval, desenvolveu uma
particular ojeriza pelo trabalho e no uma potncia econmica, o segundo
representa os valores opostos. Em primeiro lugar, trabalhador, bem-sucedido
economicamente, seguidor das leis e das normas, mora numa cidade sem sol e
sem mar, fria e cinza, onde tudo funciona eficientemente e ainda por cima
carrega o Brasil nas costas.244
Diante dessas caractersticas, podemos afirmar que Rio de Janeiro foi o
grande palco do humorismo nacional. A maneira malandra e escorregadia de
pensar, a sociabilizao pela via anedtica, a adoo quase automtica de uma
postura irreverente so fatores incontestveis na criao de um ambiente propcio
transgresso pelo humorismo, principalmente num contexto tipicamente
estabelecedor de regras rgidas, como ocorreu durante o governo militar.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Os primeiros anos da dcada de 60 ainda estavam cobertos por uma aura
deslumbrada de prosperidade e maravilhas. Os cinquenta anos em cinco
prometidos por Juscelino Kubitscheck deram lugar ao enfoque de soberania e
liberdade245 propostos por Jnio Quadros, que apesar de ter permanecido no poder
por apenas seis meses conseguiu semear otimismo. Nas artes havia uma
renovao antialienante, calcada na emergncia de uma recm-nascida
brasilidade. O Cinema Novo propunha um desprendimento de quaisquer
influncias europeias em prol da nacionalidade em voga. No teatro tambm havia
tambm uma atitude equivalente, principalmente com os grupos Arena e Oficina,
nos quais peas de teor engajado eram apresentadas com o mesmo objetivo de ter
uma funo social demarcada. A Bossa Nova (notemos que o adjetivo novo
autentica todo um movimento de renovao surgido naquele momento histrico),
apesar das influncias estrangeiras, era uma msica tipicamente daqui, e a mistura
de outros ritmos de fora se explica pela prpria constituio miscigenada do
homem brasileiro.
244
BARBOSA, Lvia. O jeitinho brasileiro, p. 46.
Esses dois termos, alm de prosperidade, so os que mais aparecem nos discursos de JQ. Cf.
CARDOSO, Miriam Limoeiro. Op. cit., pp. 291-292. Iniciativa privada, por exemplo, que nos
dias atuais est em alta, era um tema quase no desenvolvido nos discursos desse mesmo
presidente.
245
131
O CPC (Centro Popular de Cultura) levava o trabalho de artistas e
intelectuais aos lugares onde o povo normalmente no tinha acesso. Apesar de
populista pois ignorando as diferenas de classes eles supunham que a
capacidade de apreenso artstica se formava instantaneamente246 , o papel do
CPC foi fundamental como uma tentativa de se levar um sentimento de
conscientizao s camadas sociais que viviam (e at hoje vivem) merc dos
valores impostos pela cultura de massa.
A Revoluo Cubana foi uma inspirao, mostrando que
grandes
mudanas eram possveis. Fidel Castro se transformou no guru dos intelectuais e
de boa parte da imprensa, alm da juventude, que via em Fidel e Che dois
modelos de transgresso.
A influncia de Sartre tambm foi importante no s nesse momento como
tambm no incio da imprensa alternativa. Quando o filsofo francs esteve no
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Brasil com Simone de Beauvoir, em 1960, multides lotaram os locais em que ele
foi ministrar conferncias. Permaneceu quatro meses aqui, aproveitando para
conhecer o territrio nacional e seus contrastes. Durante um passeio de Kombi por
Braslia, ao descobrir que o motorista era tambm soldado da PM e
contrabandista, fez o antolgico comentrio: Este um pas surrealista.247 A
marca sartreana tambm estaria presente no jornalismo alternativo, pelo seu
carter anrquico e orientalista (difundiu-se, na poca, o zen-budismo e as novas
formas de percepo fornecidas pela cannabis sativa, a maconha).
Contudo, o sentimento nacionalista atingiu tambm os militares. Eles
foram tomados por um desejo de maior participao poltica, tendo recebido
algumas influncias comuns quelas que estimulavam a sociedade civil. Desde a
posse de Joo Goulart, em 1961, vrios incidentes causados pelos militares, como
motins e discursos inflamados contra a submisso econmica, foram precursores
do Golpe. A rebelio dos marinheiros, que reivindicavam, dentre outras coisas,
organizao da associao da classe e melhor alimentao nos quartis, foi o
estopim. Apoiados pelas esquerdas porque os marujos eram a classe menos
favorecida das Foras Armadas , pela UNE e pelo CTI (Comando dos
246
Tal como as iniciativas ocasionais de se levarem alunos da rede pblica para museus ou
concertos. Animados por no haver aula no dia, as crianas respondem positivamente s perguntas
do jornalismo hipcrita sobre o que acharam daquilo que para eles na verdade enigmtico e
distante.
247
Apud MORAES, Denis de. A esquerda e o golpe de 64, p. 33.
132
Trabalhadores Intelectuais), a eles juntaram-se os fuzileiros, fazendo o movimento
tomar corpo. A suposta vitria do grupo repercutiu mal em toda a hierarquia
militar, soando como um grande ato de indisciplina, que visava antes de tudo
diminuir as diferenas entre as classes, algo que para eles era praticamente
inaceitvel. Uma festa no Automvel Clube pelo aniversrio da Associao dos
Suboficiais e Sargentos da Guanabara, em 30 de maro de 1964, da qual Jango era
convidado especial, foi mais uma afronta para os oficiais. E apesar da
tranquilidade passada por Luis Carlos Prestes, bem como a confiana geral de que
um golpe era praticamente impossvel, os militares tomaram o poder. Em seguida
os IPMs (Inquritos Policiais Militares) foram uma das principais armas com que
o novo regime reprimia toda e qualquer ameaa de subverso, como assinala o
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
jornalista Denis de Moraes:
O clebre IPM nmero 709, sobre as atividades do Partido Comunista Brasileiro,
foi a frmula mais simples para indiciar todo mundo comunistas ou no. Nele
figuravam liberais, trabalhistas, janguistas, brizolistas, marxistas da linha
sovitica, marxistas da linha chinesa, trotkistas, luxemburguistas, socialdemocratas, catlicos de esquerda, democratas cristos.248
Assim iniciou-se todo um movimento de represlias que a imprensa
alternativa no deixou de observar como um amontoado de absurdos. Absurdos
como o ocorrido com o sindicalista Clodesmidt Riani, que foi preso injustamente
e condenado a dezessete anos de priso. Aps uma srie de apelaes, teve a pena
reduzida para um ano e dois meses, embora j tivesse cumprido mais de quatro
anos de crcere249. Cmico se no fosse trgico. Um dos muitos casos dignos dos
Febeaps e dos olhares atentos da imprensa alternativa, que denunciaria tais atos
ridculos e se mostraria mais presente medida que o poder aumentasse o aperto
contra o povo.
Em dezembro de 1968, quando o Ato Institucional n. 5 entrou em vigor
suprimindo a liberdade de expresso250, o humorismo teve sua importncia
aumentada diante daquele contexto. Antes mesmo de ser editado, o AI-5 j
248
MORAES, Denis de. Op. cit., p.207.
Cf MORAES, Denis de. Op. cit., p. 208.
250
Roberto Schwarz, em Cultura e poltica, lembra que o poder oficial instaurou a censura devido
ameaa pensante que se manifestava nos idos de 1968: Se em 64 fora possvel direita
preservar a produo cultural, pois bastara liquidar o seu contato com a massa operria e
camponesa, em 68, quando os estudantes e o pblico dos melhores filmes, do melhor teatro, da
melhor msica e dos melhores livros j constituem massa politicamente perigosa, ser necessrio
trocar ou censurar os professores, os encenadores, os escritores, os msicos, os livros, os editores noutras palavras, ser necessrio liquidar a prpria cultura viva do momento. p. 9.
249
133
comeava a censurar. Na sexta-feira, dia 13 de dezembro, dia seguinte
divulgao do Ato, vrios jornais foram apreendidos ou proibidos de circular. O
Jornal do Brasil, sob o comando de Alberto Dines, tentou utilizar o humor para
transmitir ao pblico a situao em que os jornalistas se encontravam. Embora
fosse um dezembro ensolarado, a previso meteorolgica, no canto superior, era
Tempo negro. Temperatura sufocante. O ar est irrespirvel. O pas est sendo
varrido por fortes ventos.251 Uma nota anunciava que o dia anterior era o dia dos
cegos. No lugar do editorial, uma foto mostrando um lutador de jud dominando
um garoto, com a legenda: Fora herclea. Diante dessa situao opressora, em
que a imprensa oficial era proibida de publicar os fatos da maneira como
ocorriam, surgiu a chamada imprensa alternativa.
Durante a dcada de 1960 o termo alternativo passou a ser associado a
vrias manifestaes culturais. O que estava margem passava a chamar a
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
ateno geral, como uma forma de questionamento e reavaliao das experincias
estticas tradicionais. Foi incorporado imprensa, portanto, todo um mpeto
voltado para a contracultura, que j ocorria no cinema, na msica, no teatro e na
literatura. Esse dado reafirma a sua importncia dentro daquele momento histrico
especfico.
A imprensa alternativa252 no existiu exclusivamente em funo do regime
militar, nem surgiu exatamente como uma resposta direta ditadura. Alm do
exemplo grandioso da obra de Apparcio Torelly, desde o sculo XIX, e mais no
incio do sculo XX, existiam vrias revistas e jornais de contedo satrico, como
Dom Quixote, Careta e O malho, em que a caricatura, a charge e o
cartum253 predominavam como modo de crtica poltica atravs do humor. Mesmo
nos anos pr-64 a imprensa j vinha se modificando por um processo de
industrializao, acompanhando o mpeto modernizante da poca. O que
251
Apud VENTURA, Zuenir. 1968: oano que no terminou, pp. 288-289.
Deve-se observar que o adjetivo alternativa pode conferir ao substantivo quatro sentidos:
aquela que no est ligada ao sistema poltico vigente; a que serve como uma opo diante da
imprensa convencional; a que a nica sada para a situao; aquela que busca suceder a anterior.
De fato, os quatro sentidos se encaixam no que a imprensa alternativa realmente foi. No que em
todos esses aspectos ela tivesse obtido total sucesso, mas o projeto dos jornalistas que se
organizaram, quase sempre, unicamente pela vontade de mudar e participar das mudanas,
continha esses elementos.
253
Entendendo-se caricatura como uma representao fisionmica em que se ampliam certos
detalhes para gerar efeito cmico. O termo cartum, do termo em ingls cartoon, designa uma
narrativa humorstica, da qual a caricatura faz parte. J a charge um cartum de tema poltico.
(para definies mais detalhadas, v. RABAA, Carlos Alberto & BARBOSA, Gustavo. Op. cit.)
252
134
diferencia a produo no perodo ditatorial o grande incmodo que os
humoristas passaram a causar, resultando na criao de um aparelho censor que
chegava a violar os direitos humanos. Alm disso, diferentemente das outras
pocas, essa imprensa se fez extremamente necessria, pois os grandes meios de
comunicao ou tambm estavam sob a mira da censura ou assumiram o discurso
oficial. A procura do povo por uma sensao de liberdade o que talvez justifique
o nascimento e a morte de cerca de 150 jornais alternativos no perodo ditatorial,
todos com um trao comum: a posio visceralmente contra o sistema, tentando
revelar o que a grande imprensa ocultava. Por exemplo, enquanto era oficialmente
difundida a expresso milagre econmico pela imprensa oficial, os jornais
alternativos buscavam denunciar o crescente endividamento externo, alm das
desigualdades sociais.
A linguagem humorstica nos jornais alternativos foi necessria para que
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
fosse veiculado um fato histrico, como se fosse a nica forma que pudesse burlar
as regras recm-estabelecidas. Era uma voz que nos apertados anos seguintes teria
papel fundamental na transmisso da verdade e na manuteno do riso e do
sorriso. Essa linguagem, explorando os duplos e s vezes triplos sentidos,
reunindo paradoxos, surpreendendo com o inesperado, enfim, artisticamente
ldica, foi um dos mais profcuos meios manifestao contra o sistema repressor.
Para o jornalista Bernardo Kucinsky, o humor era uma forma possvel de
denunciar o paradoxo existente entre o que se falava e o que se fazia: Havia um
discurso democrtico e uma prtica repressiva. Com a arma poderosa da ironia o
humorista penetrava nas contradies entre palavra e ato enfatizando o grotesco
das situaes.254
Com relao aos outros jornais, a imprensa alternativa tinha como marca a
independncia formal, temtica e ideolgica. Ela fazia questo de ser diferente,
dissociada dos meios de comunicao oficiais. Em outros termos, impunha-se
como o outro da comunicao. O verbete do Dicionrio de comunicao, citando
Ziraldo, d bem a ideia de renovao contida na proposta:
Para Ziraldo (ex-editor do Pasquim), a imprensa alternativa , principalmente,
uma imprensa no-convencional, dirigida por jornalistas e no por empresrios,
uma necessidade que o jornalista independente sentiu para poder fazer uma
254
KUCINSKY, Bernardo. Jornalistas e revolucionrios nos tempos da imprensa alternativa, p.
15.
135
imprensa mais parecida consigo mesmo. a imprensa pela imprensa, e no a
imprensa pela empresa.255
A independncia, portanto, no era somente com a posio do sistema de
governo, mas tambm com o modelo de organizao da imprensa. Sem ter de se
submeter a imposies de grupos empresariais, o jornalista via ali uma
possibilidade de trabalhar de forma mais livre, transmitindo ao leitor a viso que
realmente gostaria de transmitir, o que poucas vezes possvel na imprensa regida
por necessidades empresariais. Desse modo, a proposta de liberdade da imprensa
alternativa no deixou de ser tambm auto-referencial, caracterizando-se como
espao privilegiado para as manifestaes humorsticas.
Observemos, a seguir, como o humor se manifestou na poesia brasileira,
especificamente na obra de alguns autores cujo trao potico foi marcado pelo
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
riso.
5.1 O Rio de Janeiro continua rindo
A partir do fim do Estado Novo, em 1945, a produo intelectual do pas
foi impulsionada por um sentimento de recomeo. Na dcada de 50 e incio de
60 do sculo passado, quando a crnica estava no seu auge, os mineiros
Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Resende e Hlio Pellegrino
j haviam se estabelecido no Rio, alm da presena forte de Rubem Braga,
Antnio Maria e Carlos Drummond de Andrade. A crnica carioca vivia sua
poca de ouro.
Durante o governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, todo o pas
se viu imerso num clima de euforia e crescimento. JK prometia levar mudar a
capital para Braslia em abril de 1960, o Brasil conquistava sua primeira Copa,
Joo Gilberto inventava a bossa-nova, a indstria automobilstica se instalava no
pas, a revista O Cruzeiro ultrapassava a tiragem de 800 mil exemplares. Enfim,
foi um perodo de opulncia econmico-social que se refletia em praticamente
todas as reas, dando ao humorismo um carter de inocncia e deslumbramento.
255
RABAA, Carlos Alberto & BARBOSA, Gustavo.Op. cit., p. 329.
136
Os cinquenta anos em cinco prometidos por Juscelino Kubitscheck
deram lugar ao enfoque de soberania e liberdade propostos por Jnio Quadros,
que conseguiu semear certo otimismo, ainda que tenha permanecido no poder
por apenas seis meses. Nas artes havia uma renovao antialienante, calcada na
emergncia de uma recm-nascida brasilidade. O Cinema Novo propunha um
desprendimento de quaisquer influncias europias em prol da nacionalidade em
voga. No teatro tambm havia uma atitude equivalente, principalmente com os
grupos Arena e Oficina, nos quais peas de teor engajado eram apresentadas
com o mesmo objetivo de ter uma funo social demarcada. A Bossa Nova
(note-se que o adjetivo novo autentica todo um movimento de renovao
surgido naquele momento histrico), apesar das influncias estrangeiras, era uma
msica tipicamente daqui, e a mistura de outros ritmos de fora se explica pela
prpria constituio miscigenada do homem brasileiro. O CPC (Centro Popular
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
de Cultura) levava o trabalho de artistas e intelectuais aos lugares onde o povo
normalmente no tinha acesso.
A Revoluo Cubana foi uma inspirao, mostrando que grandes
mudanas eram possveis. Fidel Castro se transformou no guru dos intelectuais e
de boa parte da imprensa, alm da juventude, que via em Fidel e Che dois
modelos de transgresso.
Com todo esse quadro, ganhava fora o epteto de Cidade Maravilhosa,
que vinha sendo construdo desde a Blle Epoque, alimentado pelo sorriso
litorneo da cidade, o carnaval, o jeitinho cordial carioca e tantas outras
caractersticas tpicas.
Este projeto pretende, assim, situar o humor nesse contexto carioca. Na
dcada de 1950, quando a crnica se firmava como categoria textual tipicamente
brasileira e, sobretudo, carioca , a leveza e o humor eram marcantes na obra
de autores como Srgio Porto, sob o pseudnimo de Stanislaw Ponte Preta256. O
sucesso da crnica como categoria textual ratificou um sentido de carioquice
que marcaria boa parte da produo daquela poca, especialmente com o teor de
leveza e humor com que a cidade era retratada. Futuramente, a imprensa
256
Cabe notar que, na sua obra assinada com o prprio nome (As cariocas, A casa
demolida) e que tratavam de aspectos da cidade, o humor j cedia espao para um lirismo
melanclico, como se a mscara do riso, ao ser retirada, abrisse caminho para uma certa tristeza.
137
alternativa encontraria no humor a linguagem ideal para confrontar o sistema de
governo autoritrio e ditatorial.
Por enquanto, a crnica seguia firme como espao privilegiado nos
jornais para todo tipo de manifestao. Entre elas, a humorstica. Em 1959, a
convite do Servio de Documentao do Ministrio da Educao, o cronista e
poeta Paulo Mendes Campos organizou uma antologia denominada Pginas de
humor e humorismo, que nove anos depois foi ampliada reeditada pela Editora
do Autor com o ttulo Antologia Brasileira de Humorismo. O organizador fez
questo de elucidar o seu critrio de seleo ou mesmo a falta de um, conforme
aponta na apresentao: reuni pginas que me fizeram rir ou sorrir, e que me
vieram lembrana quando tive a ideia de organizar uma coletnea (no tanto de
humorismo) daquilo que os ingleses chamam literatura leve.257 Ora, essa nfase
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
na leveza e espontaneidade em detrimento de uma postura rigorosa e sria
tpica dos cronistas, sob cujas aparncias suaves dos textos se escondem,
geralmente, tcnicas acuradas e mtodos de pesquisa e investigao
deliberadamente apolneos, especialmente quando produzem para jornais e
outras publicaes regulares, como foi o caso de Campos. A despeito da
necessidade de buscar uma literatura leve, ao abranger um longo perodo da
literatura brasileira, de Manuel Antnio de Almeida a Clarice Lispector, o
antologista precisou criar filtros, alguns dos quais ele j descreve: Os versos e
os novos ficaram de fora desta antologia.258 Em seguida, afirma no ter nenhum
pudor ao incluir O Plebiscito, de Artur Azevedo, e O Peru de Natal, de
Mrio de Andrade. Quanto a este, faz ainda uma ressalva: Tambm no me
importa quando dizem que uma pea como O Peru de Natal no humorismo:
acho que , e a antologia foi feita por mim.259
Deste ponto para a observao dos textos selecionados, possvel notar
que, conquanto o cronista tivesse a inteno de demonstrar apenas um humor
leve, h uma densidade e mesmo teor crtico no humor presente na antologia.
Exemplos claros esto na crtica poltica do tom cmico e explicitamente teatral
257
CAMPOS, Paulo Mendes. Antologia brasileira de humorismo. P. 5.
Id, ibidem. Neste ponto h uma nota em que afirma: Mas e o Carlinhos de Oliveira? O
Carlinhos Oliveira no to novo quanto dizem. [Tinha 31 anos poca] Alm do mais, nem tudo
neste mundo precisa ser lgico e certo, que diabo.
259
Id, ibidem.
258
138
de O plebiscito, de Artur Azevedo, em que a ignorncia da cena familiar, cujo
patriarca no consegue dizer ao filho o significado da palavra plebiscito,
retratando a ignorncia social no contexto republicano a primeira frase situa
esse contexto260. Outra representao das escolhas de Campos est na presena
do tambm muito conhecido conto O homem da cabea de papelo, de Joo
do Rio. Cabeas e relgios querem-se conforme o clima e a moral de cada
terra261, resigna-se o protagonista Antenor, que decide trocar de vez a cabea
original portadora de uma sinceridade extrema que o compelia a dizer somente
a verdade a quem quer que fosse, trazendo srios problemas para todos que o
cercavam por uma cabea de papelo, que se adequava s verdades relativas
e era, portanto mais adequada ao convvio e ascenso social. Esse smbolo do
rosto coberto de papelo, no qual o indivduo renega sua identidade em prol da
aparncia necessria para as convenes retratadas caricaturalmente como
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
mesquinhas, representa quase literalmente a definio moral de Bergson para
esse recurso de construo:
Vivendo nela [sociedade], vivendo por ela, no podemos abster-nos de trat-la
como um ser vivo. Risvel ser, portanto, uma imagem que nos sugira a ideia de
uma sociedade fantasiada e, por assim dizer, de uma mascarada social.262
Um ltimo exemplo de olhar minucioso est na escolha de Mrio
Quintana, contradizendo o que Campos havia dito na introduo (ficaram de
fora os poetas). Ainda que tenham sido selecionados trechos do livro de prosa
potica Sapato Florido, e no poemas propriamente ditos, trata-se da evidncia
de que a presena lrica era necessria para essa seleta, buscando inclusive
incluir o tipo de humor que explora as estruturas mnimas da lngua: Horror
Com seus OO de espanto, seus RR guturais, seu hirto R, HORROR uma
palavra de cabelos em p, assustada da prpria significao.263
Uma anlise completa dessa antologia no caberia aqui, mas esses trs
exemplos indicam que o cronista possua uma inteno, claramente evidenciada
pelo teor leve mas ao mesmo tempo corrosvel, sardnico e por vezes potico no
260
A cena passa-se em 1890. AZEVEDO, Artur. O plebiscito. In CAMPOS, Paulo Mendes.
Op. Cit. P. 40.
261
RIO, Joo do. O homem com cabea de papelo. In CAMPOS, Paulo Mendes. Op. Cit. P.
53.
262
BERGSON, Henri. Op. cit. P. 33.
263
QUINTANA, Mrio. Seleo do Sapato Florido In CAMPOS, Paulo Mendes. Op. Cit. P
152.
139
seu conceito de humor. Essas misturas podem traduzir um objetivo imbricado
nesse conceito, como afirma Bergson: O riso no advm da esttica pura, dado
que tem por fim (inconsciente e mesmo imoralmente em muitos casos) um
objetivo til de aprimoramento geral.264
Mas se Paulo Mendes Campos, com todas essas ressalvas, priorizou a
crnica como formato de texto que poderia conter o humor na literatura
brasileira, Raimundo Magalhes Junior fez questo de manter a presena dos
textos em prosa na sua Antologia de Humorismo e Stira, onde esto presentes
128 autores, de Gregrio de Matos a Carlinhos Oliveira. Publicada em 1957,
dois anos antes daquela organizada por Campos, essa antologia tem uma
pretenso mais ambiciosa, tendo voltado mais no tempo e na pesquisa histrica,
especialmente dos que se expressaram em versos. Desses 128 autores presentes,
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
nada menos que os textos de 78 so em poesia. Alguns autores como Manuel
Bandeira e Carlos Drummond de Andrade aparecem com crnicas e poemas. Se
considerarmos esses casos, chegam a 86 os participantes da antologia que so
poetas. O soneto surge como grande forma potica, especialmente dos sculos
XVI ao incio do XX.265
As diferenas entre essas duas antologias tambm podem se explicar pelos
diferentes perfis dos seus organizadores no contexto em que as duas seletas foram
lanadas. Ora, Campos era um cronista j na poca em que esse gnero atingia seu
auge, tendo colaborado em jornais relevantes como O Correio da Manh e o
Dirio Carioca. De certa forma, o cronista de ento tinha a leveza e
despretenso explcitas, por isso suas escolhas estavam mais atreladas s histrias
que tinha ouvido e causado encantamento, preferindo omitir quaisquer traos de
pesquisa. Por outro lado, Magalhes Junior havia ingressado na Academia
Brasileira de Letras em 1956, um ano antes do lanamento da antologia, e embora
j fosse prosador consagrado (em crnica, conto, novela e teatro), era a primeira
incurso na organizao de antologias.
264
BERGSON, Henri. O riso - ensaio sobre a significao do cmico. P. 19.
Dedicaremos um subcaptulo apenas para explorar essa forma potica utilizada na expresso
humorstica.
265
140
5.2 Millr: um tipo mvel
(...) necessrio que eu me identifique muito
bem para que voc me reconhea se algum dia
me vir na rua, no bonde, no parque, ou em seus
sonhos, senhora. Sou um homem de 1,69,
pescoo 37, sapato 40. Minha carteira
profissional nmero 16.100, srie 41. Fui scio
da ABDE com o nmero 130 e sou da ABI com
o nmero 4.125. Meu passaporte 028564,
sendo que para consegui-lo tive que apresentar a
certido 1.438, ao passar pela Delegacia
Regional de Imposto de Renda do Distrito
Federal, onde me eximiram de pagamento, de
acordo com o declarado no artigo 3 do Decreto
n 2.458, arrimado nos pargrafos 8 e 9 do
mesmo decreto.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Millr Fernandes
A obra de Millr Fernandes sensivelmente uma das mais significativas
dentro da inteligncia brasileira. Nascido em 1924, comeou a trabalhar aos treze
anos no jornalismo e no parou mais, at poucos anos antes de falecer, em maro
de 2012. Seu prprio nome vem de um equvoco, surgido sob uma circunstncia
humorstica (sem que essa fosse a inteno): em vez de escrever Milton, o
funcionrio do cartrio fez o trao do t sobre o o e no concluiu o n. Na
escola teve problemas para se matricular, pois embora se chamasse Milton, no
documento constava, oficialmente, Millr. E assim o humor sempre foi a principal
marca da sua vasta obra, que compreende poesia, teatro, crnica, pintura,
traduo, dentre outras atribuies mais esparsas, como roteiro para cinema. Sua
experincia na imprensa foi crucial na constituio dos jornais alternativos, em
especial nO Pasquim, cujo bero foi a Ipanema onde se reuniam seus criadores, e
onde fica o escritrio no qual Millr trabalhou at o fim da vida.
Millr se utilizou de formas bastante conhecidas na sua produo
humorstica: trocadilhos, duplos sentidos, tradues arbitrrias etc. E tambm
lanou mo de quaisquer modos textuais imaginveis, seja em verso, seja em
prosa, alm dos desenhos. Foi pioneiro no uso de computador, lanou um CDROM com textos e charges, e publicou tambm na internet (afirmava ter um
saite para teleitores). como se ele utilizasse tudo o que lhe pem frente
141
como uma possibilidade de produzir humor. Por isso que o formato no qual o
efeito humorstico vai se manifestar est subordinado ao impulso do artista, como
o prprio Millr afirmou: Me deem uma ideia, qualquer uma, e logo outras ideias
se juntam a ela num fenmeno mecnico indomvel, mais rpido do que um
computador. Quem quiser que tente o jogo.266 A fora propulsora do fazer
esttico fica em riste, espera das ideias. O jogo no acontece sem que haja
inicialmente uma vontade inexorvel de jogar. E, por consequncia da lmina
sempre afiada do artista, praticamente tudo pode ser convertido em jogo. Inclusive
os aspectos materiais das palavras: a superfcie da pgina, o formato da letra, as
possibilidades sonoras, enfim, os mais variados elementos das representaes da
linguagem so passveis de converso humorstica, ou seja, podem ser observados
de uma nova perspectiva.
O humor na obra de Millr Fernandes possui toda uma carga de teor
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
satrico. Como j vimos anteriormente, alguns autores consideram a stira como
um gnero. Segundo o Dicionrio de comunicao, ela pode, assim como o
humor, ser entendida como uma essncia, uma modalidade textual que se torna a
principal caracterstica de outros gneros:
Stira tipo de narrativa (literria, teatral etc) caracterizada pela crtica picante,
mordaz, e burlesca de determinada situao social, costumes, instituies ou
pessoas. Encontrada j na comdia grega primitiva, na poesia e na prosa da Idade
Mdia, a stira situa-se hoje entre as modalidades de expresso essencialmente
ligadas ao humor. Sem humor, a stira mera injria; sem boa forma literria,
zombaria grosseira, chacota (Enciclopdia Britannica). Assim, por meio do
humor, do burlesco, a stira pressupe uma atitude ofensiva, ainda quando
dissimulada: o ataque a sua marca indelvel, a insatisfao perante o
estabelecido, a sua mola bsica. (Massaud Moiss)267
Na contemporaneidade, portanto, a stira est imbricada no humor. A ideia
de agressividade, de descontentamento e de insatisfao contido na definio est
intimamente ligada obra de Millr. Poderamos dizer que, hoje, o humor a
modalidade literria na qual a stira se expressa. E se levarmos em conta que o
humor pode ser manifestado em qualquer modalidade literria, chegamos
concluso de que a stira tem uma ampla liberdade formal de expresso.
Praticamente todo modo de escrita pode se converter a servio do burlesco,
atravs de recursos humorsticos tais como a pardia.
266
267
Apud REGO, Norma Pereira. Pasquim: gargalhantes pelejas, p. 88.
RABAA, Carlos Alberto & BARBOSA, Gustavo. Op. cit., p. 527.
142
Um bom exemplo desse uso est no questionamento dos fatos histricos.
Numa charge publicada no Jornal do Brasil em 14 de maio de 1985, um desenho
mostra a Princesa Isabel assinando a Lei urea. Ao lado, os dizeres: E cada
senzala ser dividida em 2000 quartos de empregada de 2m X 1,60 cm.268 O
texto parodia o estilo da lei, em forma de artigo, revertendo-o em uma mensagem
de manuteno da situao do escravo. O treze de maio, comemorado no dia
anterior publicao da charge, dissolvido e questionado nos seus resultados ao
longo do processo histrico. A comemorao em si pode ser vista como uma
atitude j mecanizada na sociedade e, se mostrada de outra perspectiva, pode levar
o seu leitor a repensar aquele registro histrico. interessante, mais uma vez,
comparar esse exemplo com a teoria bergsoniana, segundo a qual a sociedade riria
de uma atitude mecanizada a fim de, com esse castigo, restituir-lhe a flexibilidade
necessria vida em conjunto. Ora, no caso ocorre um movimento diferente: a
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
sociedade que acaba por ser o elemento mecanizado, o inflexvel. O riso
humorstico, provocado por um nico indivduo o humorista , que busca
resgatar a flexibilidade de pensamento. O riso no vai da sociedade flexvel para o
indivduo mecanizado, mas parte do indivduo flexvel para a sociedade
mecanizada.
A pardia se fundamenta na tentativa de desconstruir o texto original. Mas
na obra de Millr esse aspecto marcadamente um meio, e no um fim. O efeito
reflexivo sobre o assunto abordado que vai ser a inteno primeira, como se
pode notar no exemplo acima. Desse modo, a atividade humorstica se reconhece
como um agente de mudana social, pelo menos no campo que lhe possvel
atingir, que a instncia das ideias, de observar o mundo de forma diferente e
assim poder question-lo.
O pensamento sobre o que fazer humor e o que ser humorista, alis,
est presente na obra de Millr. O texto Declogo do verdadeiro humorista
interessante porque aponta as caractersticas da postura desse artista:
O humorista o ltimo dos homens, um ser parte, tipo que no chamado para
congressos salvadores do mundo, no eleito para academias, no est listado
entre os cidados teis da repblica, semeia ventos e colhe tempestades. um
tipo que muitos acham engraado e quelas que o louvam e endeusam. Mas um
268
FERNANDES, Millr. Dirio da nova Repblica, p. 103. Em letras diminutas, ao lado da
charge, ainda possvel ler: Em 1888, a princesa Isabel botou o preto no branco. Mas at hoje o
branco continua botando no preto.
143
dos defeitos que no pode ser tolerado pelo humorista a prpria vaidade. A
vaidade vai bem o comediante, por natureza extrovertido. O humorista, por
natureza introvertido, sabe que bastar facilitar um pouco que o transformaro em
esttua e mito. Mais aceitar isso ser perder a substncia fundamental do
humorista.269
A definio milloriana do que ser humorista est ligada a uma aceitao
de no ser um indivduo comum. Deve fugir, portanto, das tentativas que a
sociedade faz de enquadr-lo num modelo, num ser rotulado. Por isso que o
humorista, produtor do riso, no um ser risvel em si mesmo, mas deve, como
uma atitude at auto-humorstica, quebrar a expectativa dos outros sobre ele:
Um humorista deve imediatamente ser riscado do rol dos humoristas quando tenta
corresponder ao que se espera dele, fazendo qualquer espcie de graa, gracinha
ou graola. O humorista por definio completamente sem graa, no se
confundindo nem de leve com comediantes, palhaos, jograis, polticos
situacionistas e outros nmeros eqestres.270
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Ele se afasta da imagem do cmico, que provoca o riso explorando a
materialidade, o corpo, os gestos. O artista do humor, uma vez que lida com as
ideias, tem todo o direito de ser fisicamente introspectivo, retrado e inexpressivo,
contrariando o aspecto espirituoso presente nas suas obras as sacaes geniais.
E nessa desconstruo que Millr apresenta da imagem que se costuma fazer do
humorista, includa tambm a inteligncia:
Um humorista deve ser burro. S a burrice nos d a possibilidade de compreender
a burrice da humanidade, a xucrice do nosso congnere humano, a grosseria
anmica dos outros seres que, como ns, se dizem homens. S a burrice, pela
semelhana com a maioria absoluta da humanidade, capaz de compreend-la, e
narr-la. A inteligncia se perde em si mesma, se confina no mbito estreito da
prpria pessoa inteligente, ou no de um reduzido nmero de pessoas. A
inteligncia vaga, terica, parte de pressupostos, no constata, no infere, no
aceita. A inteligncia, pensando bem, muito burra.271
O humorista, sendo burro, na verdade est afirmando o seu no-saber
das coisas. Ele um ignorante com relao humanidade, ou seja, no conhece
(na verdade rejeita, simulando no conhecer) os conceitos estabelecidos do que
quer que seja, e cria a sua prpria viso das coisas e de si mesmo, sugerindo que o
leitor percorra um caminho anlogo. Para John Morreall, the person who can
appreciate humor in this own situation is liberated from the dominance of his
269
FERNANDES, Millr. Trinta anos de mim mesmo, p. 68.
Idem, ibidem.
271
Idem, ibidem.
270
144
emotions, and so he has a more objective view of himself.272 O humorista busca,
portanto, uma liberdade total diante da realidade exterior e interior. Libertar-se das
regras rgidas da linguagem, dos sistemas de governo, dos conceitos impostos. O
questionamento proposto pelo humorismo tem a liberdade como fim. Na
apresentao da verso publicada da pea Liberdade, liberdade, Millr reafirma
essa sua busca:
No tenho procurado outra coisa na vida seno ser livre. Livre das presses
terrveis da vida econmica, livre das presses terrveis dos conflitos humanos,
livre para o exerccio total da vida fsica e mental, livre das ideias feitas e
mastigadas. Tenho, como Shaw, uma insopitvel desconfiana de qualquer ideia
que j venha sendo proclamada por mais de dez anos.273
Logo aps o Golpe de 64, Millr escreveu o texto com Flvio Rangel,
estreando em 1965 com grande sucesso. Montada em plena ditadura e feita
exclusivamente para ela , a pea era nada menos que uma seleo de textos
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
contendo as mais diversas definies de liberdade atravs de todos os tempos,
complementada por msicas e ilustrada por cenas como a morte de Scrates ou a
inveno da guilhotina. A montagem no exigia recursos tcnicos, apenas um
spotlight, e os atores trajavam roupas informais, do dia-a-dia. Devido a sua
simplicidade, seria como se os personagens tirassem a mscara clssica e
revelassem sua existncia enquanto elementos do povo. Da o seu carter
revolucionrio tanto no sentido de inovao cnica quanto no objetivo de
instigar o protesto no pblico. Millr sabia que a liberdade seria podada tanto
quanto fosse possvel, e tratou de instigar no pblico o valor dessa palavra, que
vale mais que mil imagens.
A busca da liberdade por meio da transgresso est presente sob vrias
formas no s na obra de Millr, mas tambm nas circunstncias que cercam a sua
produo artstica. A prpria criao do jornal Pif-Paf j veio embalada por um
ato transgressor. A revista O Cruzeiro, por influncia da Igreja Catlica, entrou
em conflito com Millr que l trabalhava h 18 anos aps ele publicar o artigo
A verdadeira histria do Paraso (posteriormente publicado em livro), que a
272
MORREALL, John. Taking Laughter Seriously, pp. 105-106. [a pessoa que consegue apreciar
humor na prpria situao livre do domnio das suas emoes, e assim tem uma viso mais
objetiva de si mesma].
273
FERNANDES, Millr. Liberdade, liberdade, p. 13.
145
prpria revista havia encomendado. bom frisar que o texto no era antireligioso, e sim uma verso humorstica do mito da criao, refletindo sobre a
condio humana atravs de articulaes e combinaes arbitrrias caractersticas
do estilo milloriano. Mas entidades moralistas, como as Ligas Catlicas, sentiramse ameaadas, e fizeram presso para que o autor fosse punido. Millr no
precisou ler o livro perdido de Aristteles sobre a comdia para saber que o humor
altamente corrosivo quando atinge, mesmo intencionalmente, instituies
tradicionalmente estabelecedoras de uma forma de pensamento.
Impulsionado por esse evento, Millr lanou seu prprio jornal, com o
mesmo nome da coluna em que escrevia na revista. O Pif-Paf era catorzenal,
como diziam os criadores (saa quinta sim, quinta no), e no seguia nenhum
esquema profissional. Vrios humoristas dentre os quais alguns daqueles que
fundariam O Pasquim entregavam suas colaboraes mas no trabalhavam no
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
jornal. Essa informalidade foi marcante em toda a imprensa alternativa.
A linha editorial era definida pela frase estampada na primeira pgina
(No temos prs nem contras, nem sagrados nem profanos274) e indicava, alm
da relao direta com o incidente causador da sada de Millr da revista O
Cruzeiro, que se trataria de uma crtica isenta e desligada de quaisquer partidos ou
bandeiras, simplesmente a continuao ampliada da seo que existia na revista.
Pif-Paf foi elaborado como uma crtica de costumes, meses antes do Golpe, mas
acabou por se tornar uma manifestao poltica, devido s circunstncias. Mesmo
porque praticamente no havia uma voz contra o regime recm-imposto. Da
grande imprensa, o Correio da Manh era o nico jornal que se opunha
ditadura. O primeiro nmero de Pif-Paf saiu menos de dois meses depois que os
militares assumiram o poder. Vendeu quarenta mil exemplares, e foi visto pelos
leitores275 como uma resposta ao governo militar.
Quando o colaborador Claudius foi preso aps a publicao de uma charge
no nmero 4 tornando-se o primeiro humorista preso aps o Golpe , Millr
acentuou o ataque aos poderosos. A radicalizao consistia no destaque da palavra
liberdade em todas as edies, alm de fotomontagens com os donos do poder.
274
275
Apud MOREIRA, Snia Virgnia. Vinte anos de imprensa alternativa, p. 20.
Note-se que pouco depois do Golpe o pblico j ansiava por uma leitura de teor contestatrio.
146
No nmero 8, uma fotomontagem do general Castello Branco devorando a
perna de Carlos Lacerda foi a gota dgua. Como parecia que o fim do jornal
estava mesmo iminente, Millr aproveitou e publicou um dos textos mais ousados
da histria da imprensa brasileira. Texto que levou apreenso do nmero e
culminou no fechamento da revista, resultando numa dvida que Millr demoraria
dois anos para pagar:
Advertncia
Quem avisa amigo : se o governo continuar deixando que certos jornalistas
falem em eleies; se o governo continuar deixando que certos jornais faam
restries sua poltica financeira; se o governo continuar deixando que alguns
polticos teimem em manter suas candidaturas; se o governo continuar deixando
que algumas pessoas pensem por sua prpria cabea; e, sobretudo, se o governo
continuar deixando que circule esta revista, com toda sua irreverncia e crtica,
dentro em breve estaremos caindo numa democracia.276
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
A ironia explode no final aps a acumulao de elementos ao longo do
texto, que em si no seriam risveis, mas assim se tornaram pela associao
arbitrria do termo democracia com todas as ideias anteriores, gerando o efeito
desenvolvido por Bakthin de polissemia, segundo o qual uma palavra ou um
conjunto de palavras adquire intencionalmente mais de um sentido. No caso
especfico, o texto de Millr acaba por estabelecer contrariamente as relaes
entre as palavras: a democracia passa a ser mais pesada que as ameaas ditadura,
como se o autor pusesse na balana as palavras numa relao em que o mais leve
toma de emprstimo a matria do mais pesado. No humor, mais do que em outra
forma de literatura salvo, talvez, a poesia , as palavras desrespeitam as leis da
gravidade277.
A apreenso do nmero foi no s a causa do encerramento do jornal, mas
tambm um pretexto, pois Millr j no conseguia levar a empreitada sozinho.
Desprovido de organizao administrativo-empresarial (o que no significa
incompetncia e sim um modo de agir da poca comum a todos os intelectuais),
Pif-Paf inaugurou, sem saber, a imprensa alternativa. Nasceu com a inteno de
provar que um humorista poderia seguir sozinho com sua obra, e terminou
autenticamente como um marco da represso liberdade de pensamento.
276
FERNANDES, Millr. Apud KUCINSKI, Bernardo. Op. cit., pp. 18-19.
E dizer que ditadura uma palavra que contm muito peso no deixa de ser tambm uma
metfora de mais de dois sentidos.
277
147
Interessante que, segundo Snia Virgnia Moreira, o texto Advertncia
foi marcante tambm para o modo de construo de um modelo censor, pois
mais tarde serviu como fonte de dados para um documento elaborado pelo
Centro de Informaes do Exrcito sobre a influncia da imprensa alternativa no
pas278. Esse texto muito rico no s pela sua importncia histrica, mas
tambm por se tratar de uma construo humorstica de alto poder corrosivo que
aparentemente no utiliza recursos lingusticos sofisticados. O contexto foi
determinante no seu funcionamento, inclusive pelo fato de que, ao se deslocar do
ambiente do jornal para o Centro de Informaes do Exrcito, Advertncia
transformou-se num texto de carter documental, tal como um modelo do que
deveria ser combatido pela censura oficial.
Com toda essa busca pelo desprendimento com relao s instituies,
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
quase natural que Millr, embora muito lido e prestigiado, receba pouca ateno
dos crculos acadmicos. De fato, se por um lado os estudos literrios ignoram o
humorismo contemporneo, por outro abundam estudos sobre, por exemplo, as
ousadias machadianas, distantes e portanto canonizveis. Os grupos mais
conservadores tendem a rejeitar algo que lhes corroa as prprias mos. A
valorao do humor, quando dada por artistas ou outras pessoas ligadas
produo cultural, pode apresentar como caracterstica o prprio desprendimento
do mundo acadmico, explicitando a heterogeneidade entre este e o fazer artstico.
A opinio do cineasta Walter Salles, publicada na orelha da reedio de Tempo e
Contratempo estabelece essa dicotomia:
Millr um inventor renascentista. pintor, escritor, caricaturista, dramaturgo,
roteirista no h nada, diacho, que ele no faa de forma brilhante e original.
Redefiniu todas as formas artsticas nas quais interferiu, sem nunca deixar de
optar pela mudana, sem nunca se tornar acadmico (grifo meu). bom
lembrar que no existe revoluo esttica que no esteja baseada em preceitos
ticos, e a obra de Millr a prova viva disso. Sua total independncia em relao
ao poder, possibilita a existncia de um olhar nico, agudo, crtico e
profundamente necessrio.279
Por estar dissociado e questionando constantemente a realidade que se lhe
apresenta, Millr conseguiu alcanar um tipo de vitria. A vitria de quem no
quer concorrer, vista de fora, isenta, na medida do possvel.
278
279
Cf. MOREIRA, Snia Virgnia. Op. cit., p. 21.
FERNANDES, Millr. Tempo e contratempo.
148
Assim que a obra de Millr busca incessantemente a liberdade. O mbito
poltico, pela sua natureza dominadora, se apresenta como um espao dos mais
frutferos para o humor. A grande discrepncia entre discurso e prtica fornece ao
humorista um grande material para a sua atividade, principalmente porque essa
dicotomia, envolta nas relaes de poder, est muitas vezes ligada questo da
liberdade, seja ela financeira, comportamental ou mesmo lingustica (como o caso
que j vimos, em que, pela autoridade poltica, tentou-se proibir o uso de
determinados vocbulos).
Quando Millr Fernandes voltou a escrever diariamente para o Jornal do
Brasil, em sua primeira coluna (10 de junho de 2001), tratou da tese de doutorado
de Fernando Henrique Cardoso. interessante observar como a transgresso se d
por duas vias: o ataque maior autoridade poltica do pas e a uma autoridade
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
acadmica. O ttulo, O teso (grande tese) do ocilogo doido, j faz referncia
ao Samba do Crioulo Doido, msica nonsense criada por Stanislaw Ponte Preta.
Trs trechos de Dependncia e desenvolvimento na Amrica Latina so transcritos
e comentados pelo humorista. O palavrrio acadmico, deslocado para o contexto
do jornal, assumiu uma feio monstruosamente ininteligvel:
oportuno assinalar aqui que a influncia dos livros como o de Talcot
Parsons, The social system, Glencoe, The Free Press, 1951, ou o de Roberto
K. Merton, Social theory and social structure, Glencoe, The Free Press, 1949,
desempenharam um papel decisivo na formulao desse tipo de anlise do
desenvolvimento. Em outros autores, enfatizaram-se mais os aspectos
psicossociais da passagem do tradicionalismo para o modernismo, como em
Everett Hagen, On the theory of social change, Homewood, Dorsey Press, 1962,
e David McClelland, The achieving society, Princeton, Van Nostrand, 1961.
Por outro lado, Daniel Lemer, em The passing of traditional society:
modernizing the Middle East, Glencoe, The Free Press, 1958, formulou em
termos mais gerais, isto , no especificamente orientados para o problema
do desenvolvimento, o enfoque do tradicionalismo e do modernismo como
anlise dos processos de mudana social.280
Em seguida Millr comenta o trecho, focalizando a crtica no discurso
vazio de sentido. Em trecho anterior j havia sido discutida a questo do excesso
de referncias bibliogrficas em ingls, e agora o ponto criticado a prpria
construo do texto:
280
Apud FERNANDES, Millr. O teso (grande tese) do ocilogo doido. Jornal do Brasil,
Caderno B, p. 1.
149
Formulou o enfoque como anlise. demais! demais! E sei que o vosso sbio
governante, nosso FhC Sarney barroco-rococ, poderia ir ainda mais longe.
Poderia analisar a frmula como enfoque ou enfocar a anlise como frmula.
evidente que s no o fez em respeito simplicidade de estilo.281
Mas o que h de humor poltico na crtica tese de doutorado do
presidente da Repblica?
Conforme j vimos, o humor milloriano se volta contra o palavreado
vazio, ou pelo menos articula o discurso do outro a fim de coloc-lo num contexto
no qual parea vazio (j que os trechos selecionados da tese podem no ser vazios,
por exemplo, para o estudioso em sociologia que l a tese por vontade prpria).
Millr usa um recurso que poderamos chamar de caricatura textual, em que um
determinado trao explorado exageradamente, gerando um efeito jocosamente
grotesco de forma parecida com que Chico Caruso faz com a fisionomia do
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
presidente nas suas charges, aumentando-lhe o tamanho dos dentes caninos.
Outros presidentes tiveram um ponto especificamente escolhido por Millr
a partir do qual realizava grande parte de sua crtica: Figueiredo e sua fixao por
cavalos (enfim um presidente Horse-Concours282); Sarney e sua pretenso
literria (Assim que saiu da posse na Academia, Sir Ney se reuniu, feliz, com um
grupo de militares: est convencido de que fardo o aumentativo de farda283);
Collor e a figura do presidente atleta (Collor no s tem aquilo roxo, como pau
pra toda obra, sempre com o Cooper feito284). No caso do atual presidente, o
ponto escolhido foi a intelectualidade proeminente. J observada, alis, em 1993,
antes que Fernando Henrique fosse eleito: normal que uma pessoa se ache
mais inteligente do que outra. Mas Fernando Henrique Cardoso o nico
intelectual que se acha mais inteligente do que ele prprio.285 Millr no hesita
em criticar todos os nveis da poltica, inclusive o mais alto posto.
281
Idem. Ibidem.
FERNANDES, Millr. Millr definitivo: a Bblia do caos, p. 231.
283
Idem. Ibidem, p. 435.
284
Idem. Ibidem, p. 68.
285
FERNANDES, Millr. Millr definitivo: a Bblia do caos, p. 383.
282
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
150
O humorista afirma que natural do ser humano exercer domnio sobre o
prximo. E que todas as formas de dominao se justificam pelo desejo de
aquisio de poder e riquezas por uma minoria:
Primeiro o troglodita ordenou mulher que no sasse mais da gruta porque c
fora era muito perigoso, e dividiu o mundo em duas metades: metade
dominadores e metade dominados. Depois, quando lhe nasceram os filhos, ele
ordenou mulher que cuidasse deles e a eles que obedecessem ao sistema de vida
que sua gerao tinha criado. E o mundo ficou dividido em um tero de
dominadores (homens) e dois teros de dominados (mulheres e crianas). A o
troglodita encontrou homens como ele mas, como tinham a cor da pele diferente,
gritou que eram inferiores e aprisionou-os. E a o mundo ficou dividido em um
sexto de dominadores, dois teros de dominados (mulheres e crianas) e um sexto
de dominados pelos dominadores e dominados. Para facilitar foram chamados de
escravos. Mas a, metade do um sexto (um doze avos) dominador quis dominar a
outra metade e inventou Deus. A luta, tremenda, terminou em empate. E a Terra
foi dividida em Poder Temporal e Poder Espiritual. E ambos concordaram em que
tinham que inventar um slogan bsico para manter todos os outros cinco sextos
da humanidade na posio em que estavam. E criaram o maior e mais belo slogan
de todos os tempos: O dinheiro no tudo. E como, por mais rico que o
homem seja, no est garantido contra o desastre e o infortnio, contra a doena e
contra a morte, foi fcil convencer a maior parte da humanidade (gastando-se
nisso, verdade, rios de dinheiro) de que mais fcil um camelo passar pelo
fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos cus; de que no Juzo
Final, os humildes herdaro a Terra, de que a riqueza no traz felicidade,
etectera. At o dia em que o Millr chegou, olhou a misria em volta, trazendo
151
como consequncia o analfabetismo, a sujeira, o dio e a opresso, e concordou
tranquilamente: Sim, o dinheiro no tudo. Tudo a falta de dinheiro.286
O texto reduz a condio humana a um sistema simples, no qual a
organizao da sociedade se d pela separao de grupos. A busca
de
superioridade sobre os outros realizada pela criao e manuteno de conceitos,
cujos fundamentos Millr dissolve com uma frase. Esse texto apresenta, de forma
sintetizada, que o humor possibilita uma viso da realidade a partir do prprio
estado em que a realidade se encontra. Mostra que um conceito solidificado pode
e deve ser questionado nas suas bases em nome de uma possibilidade de
mudana. Nesse caso, usa um jogo de palavras para trocar a regra estabelecida
(dinheiro no essencial) por outra (a falta de dinheiro a causa da misria).
Millr acreditava que menos do que um meio de vida, uma atividade de
interesse pblico, a prtica poltica um alucingeno.287 Nesse ponto de vista, a
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
poltica posta como uma ao ofuscadora da realidade, aspecto para o qual se
volta a crtica humorstica.
Quanto mais alucingina a prtica poltica, mais ela se torna alvo do
humorismo, que passa a ter maior importncia dentro da sociedade. como se o
movimento de tenso gerasse, na mesma proporo, uma reao crtica. Millr v
o humor como uma das formas mais eficazes de atacar o estabelecido e
desestruturar sistemas opressores (mais uma vez vale salientar: no plano das
ideias, de uma perspectiva livre da realidade), como afirmou em 1973, em plena
ditadura militar: O ltimo refgio do oprimido a ironia e nenhum tirano, por
mais violento que seja, escapa a ela. O tirano pode evitar uma fotografia. No
pode impedir uma caricatura. A mordaa aumenta a mordacidade.288
Assim, o humor produzido no perodo ditatorial teve grande importncia
como uma forma de ver o contexto histrico-social de maneira diferente do que o
governo pregava. Hetzler comenta sobre a incapacidade de o humor se submeter
ao controle oficial:
It resists frustration, domination, regimentation, submission, by making these
appear ludicrous. In its public forms humor devotes itself to criticism of existing
286
Idem. O livro vermelho dos pensamentos de Millr, p. 150.
Idem. Ibidem, p. 37.
288
Idem. Ibidem, p. 30. A intolerncia do sistema repressor tambm notada: Os poderosos
podem no aumentar a prpria estatura mas lhes muito fcil rebaixar o teto. Idem. Ibidem, p.
108.
287
152
organizations, institutions, beliefs, an functionaries as these impinge on the
fundamental freedoms of the men.289
O humor tem essa capacidade de corroer as superfcies que tentam prendlo: escorre por qualquer compartimento onde tentem lhe isolar. Num governo de
represso, muitas vezes basta tirar a falsa couraa de herosmo em torno do
ditador, mostrando traos da sua humanidade comum, para que a tirania perca a
fora.
A dissoluo das verdades apresentadas pela poltica feita tambm pelo
ataque sua linguagem, o que Millr faz da mesma forma com que nas profisses
das quais simula o discurso especfico. O que no discurso poltico significa pr o
foco em algum aspecto que represente uma falsa seriedade. O falar do poltico
caracterizado por uma seriedade tal que nem o povo nem os adversrios devem se
sentir no mesmo nvel de linguagem daquele que discursa. Famosos polticos, em
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
alguns de seus depoimentos pblicos, como renncias ou explicaes acerca de
denncias de corrupo, frequentemente se valem de trechos de obras clssicas
para dar suporte ao texto, como se o peso de certos livros lhes atestasse
integridade e tica profissional290. Millr desconfia da eloquncia poltica,
reduzindo-a a esquemas banais e risveis.
Isso porque sua obra tem como fulcro um desejo insopitvel de questionar
tudo o que a realidade se lhe apresenta. A consequncia, obviamente, a
perseguio, mesmo fora de sistemas de governo ditatoriais, como foi o caso da
pea Um elefante no caos. Aps cinco anos sendo lida por diretores que achavam
a pea tola, fraca, antiteatral, anticomercial, inartstica, desenxabida, analfabeta,
mal construda, sem consistncia, sem graa291, foi censurada antes da estria, em
1960, por ter como ttulo Por que me ufano do meu pas, sob a justificativa de
agredir a imagem intelectual do Conde de Afonso Celso. Ironicamente mudou
para Um elefante no caos (ou Jornal do Brasil), embora o contedo se mantivesse
o mesmo, e assim a pea cumpriu com o seu papel de cutucar a submisso
289
HERTZLER, Joyce O. Op. cit., p. 171. [Ele resiste frustrao, dominao, regimentao,
submisso, fazendo estes parecerem absurdos. Em sua forma pblica o humor volta sua crtica s
organizaes, instituies, crenas, na medida em que estes vo de encontro s liberdades
fundamentais dos homens].
290
Exemplo desse recurso pde ser visto h pouco tempo, no discurso de renncia do ex-senador
Jader Barbalho, que invocou autores clssicos como sustentculo da sua sada, feita s pressas para
evitar o processo de impeachment resultante das denncias de corrupo.
291
FERNANDES, Millr. Um elefante no caos, p. 15.
153
cultural, as autoridades competentes, enfim, todo o ridculo que merece ser levado
a pblico sob as circunstncias especiais que o teatro permite.
Mas aquilo no era teatro, disse o crtico do Correio da Manh. E o que
pretendia o autor, sendo tradutor de Shakespeare, Molire e outros tantos nomes,
ao lanar para o pblico algo aparentemente sem consistncia cnica? Sem dvida
o protesto, como viria a repetir em Liberdade, liberdade, pea a que j nos
referimos.
O teatro milloriano se inscreveria no que chamado crise da
representao, segundo a qual a mmese aristotlica cederia lugar para a prpria
vida, no lugar de simul-la, segundo afirmou Jacques Derrida: O teatro da
crueldade no uma representao. a prpria vida no que ela tem de
irrepresentvel. A vida a origem no representvel da representao.292
Mas o teatro permeado pelo humor continua sendo uma construo, uma
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
simulao, visto que h um conjunto de ideias pr-selecionadas com uma inteno
especfica, que evitar a catarse, a purgao pela descarga de emoes. O teatro
humorstico cruel na medida em que apresenta o trgico sem o objetivo de
suscitar terror ou piedade, e sim atentar para aquela vida irrepresentvel de
Derrida, o real exterior ao teatro. O distanciamento provocado pelo humor permite
que a platia no se mantenha passiva diante do espetculo. Um sorriso, o riso, a
gargalhada so preldios da reflexo quando aplicados na dosagem correta. Assim
foi possvel recontar a aventura da humanidade na pea A Histria uma Histria
e o homem o nico animal que ri. Ao converter os fatos histricos em humor, o
autor no banalizou o ser humano, o que poderia parecer primeira vista, e sim
desconstruiu o discurso histrico enquanto verdade absoluta. E a reconstruo via
humorismo abriria caminhos para um entendimento mais amplo dos fatos
histricos, uma vez que a viso registrada dos vencedores estaria bombardeada.
Como afirma uma personagem, a respeito da perspectiva humorstica: A Antilei,
para ser risofsica, tem que ser humorstico-filosfica: isto , clara, breve, geral e
verdadeira. Uma espcie de iluminao de uma verdade que todo mundo sabia.293
Segundo Derrida, o teatro da crueldade deve ser sobretudo um ato
poltico, sem no entanto transmitir uma mensagem especfica, sem pedagogismos
292
293
DERRIDA, Jacques. O teatro da crueldade e o fechamento da representao. p. 152.
FERNANDES, Millr. A Histria uma Histria. p. 95.
154
moralizantes294. O teatro milloriano no apresenta solues nem esse o papel
de nenhum teatro. Mas sobretudo tira as mscaras para dar ao espectador a
liberdade necessria para explorar as possibilidades de reconstruo do mundo e
de si mesmo.
Se no teatro o humor poltico encontra um espao profcuo para se
manifestar, nos meios impressos que ele se realiza de forma mais ampla,
inclusive pela possibilidade de atingir um contingente maior de pblico. No caso
de Millr, uma das suas obras nas quais o humor poltico est presente com
intensidade Millr no Pasquim. O livro uma coletnea da produo milloriana
no jornal O Pasquim, cobrindo o perodo de junho de 1969 a abril de 1975. Logo
na apresentao o autor relembra o fato de que o golpe militar, ocorrido no dia
primeiro de abril de 1964, transferido pelos militares para o dia 31 de maro,
para evitar o sentido anedtico do Dia da Mentira.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
O Primeiro nmero do Pasquim saiu com uma carta de Millr, em que
relembrava seus vrios momentos de censura na imprensa carioca. Alertava
Jaguar sobre o perigo de se fazer um jornal humorstico naquele contexto. As
grandes instituies de construo e manuteno poder esto representadas aqui: a
poltica, a financeira, a religiosa, a (pseudo) moral:
Em suma, Srgio Magalhes Jaguaribe, vulgo Jaguar, vai de Banda de Ipanema,
que mais melhor. Fazendo O Pasquim vocs vo ter que enfrentar: A) O
establishment em geral, que nunca tendo olhado com bons olhos a nossa
atividade, agora, positivamente, no v nela a menor graa; B) As agncias de
publicidade, que adoram humor, desde que, naturalmente, ele seja estrangeiro
(...); C) A Igreja que, depois de uma guinada de 360 graus, extremamente
liberal em tudo que seja dito por ela mesma; D) A Famlia, as Classe Sociais, As
Pessoas de Importncia, Os Quadrados, Os TFM, Os Avant-Chatos, que se
fantasiam de Avant-Garde, etcetera.295
No Pasquim, Millr encontrou um ambiente que tornava possvel a sua
crtica s organizaes sociais que julgava e ainda julga merecedoras desse
tratamento, como o caso do meio acadmico. Na ocasio da posse de Antnio
Houaiss amigo dos pasquineiros na ABL, criticou essa instituio dirigindo-se
ao fillogo:
294
DERRIDA, Jacques. Op. cit., p. 168.
FERNANDES, Millr. Millr no Pasquim, pp. 14-15. No segundo nmero, os editores do
jornal comearam a substituir o termo governo por establishment. Contrariando a previso de
Millr segundo a qual O Pasquim no duraria mais de trs meses sendo independente, o jornal
conseguiu alar vo.
295
155
Porque, positivamente, que funo tem a Academia, Houaiss? Proteger, durante
sculos, as reformas ortogrficas completamente gags e fora de qualquer
realidade? Apoiar todas as decises do sistema mesmo quando frontalmente
contra o trabalhador intelectual?296
Millr dirigiu O Pasquim de 1972 a 1975 (do nmero 166 ao 300), dentro
do perodo que o professor Jos Luiz Braga denomina como a longa travessia:
No somente a travessia do silncio imposto pela censura prvia, mas tambm a
da lenta recuperao econmica em contraste com o ritmo eufrico do primeiro
perodo297. O nmero 300 seria o primeiro a sair aps o fim da censura prvia,
mas tambm foi apreendido, e Millr deixou a direo. Ele j olhara com
desconfiana aquela nova liberdade, considerando-a um privilgio amedrontador
e quase insuportvel298. O humorista se recorda tambm das circunstncias nas
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
quais trabalhou:
Foram 300 semanas de um jornalismo aventuroso, com alguns momentos de
extrema euforia e a maior parte de depresso e angstia diante da perseguio
violenta e constante. Pois, dos seis anos quase completos em que trabalhei no
Pasquim, mais de cinco foram sob a bengala branca da censura mais cega que j
existiu neste pas e eu sei bem do que falo.299
Todo o esforo dos humoristas em manter o jornal dentro daquele contexto
scio-histrico, arriscando as prprias vidas (os primeiros anos do jornal foram a
poca da luta armada, das prises, mortes e torturas), justifica-se por uma
necessidade coletiva de no se render s imposies oficiais. Para Gregor Benton,
political jokes are the citizens response to the states efforts to standardize their
thinking and to frighten them into withholding criticism and dissent.300
Joyce O. Hertzler afirma que uma das maneiras mais eficazes de fazer
humor poltico contra um regime ditatorial explorar determinados pontos fracos,
como a discrepncia entre ato e discurso:
They center on the absurdities, weakness, and mistakes which point to the
dictators overreaching himself through his ignorance or incompetence; they
lampoon the self-styled or party-styled savior, or hero, or perfect man, or
superman the all-powerful and all-wise; they throw sharp light on the grotesque
realities and patent ludicrous failures of the regime. In general they utilize one of
the key laughter situations: the obvious incongruity between the pretentious and
296
Idem, Ibidem, p. 77.
BRAGA, Jos Luiz. O Pasquim e os anos 70: mais pra epa que pra oba, p. 16.
298
FERNANDES, Millr. Millr no Pasquim, p. 185.
299
Idem. Ibidem, p. 9.
300
BENTON, Gregor. The origins of the political jokes, p. 33. [piadas polticas so a resposta
dos cidados aos esforos do Estado para unificar o pensamento do povo e inibir sua crtica e
discordncia]
297
156
grandiose plans and promises on the hand and the banalities and failures on the
other.301
Os jornalistas do Pasquim contavam com um elemento extremamente
favorvel a seu favor, atravs do qual o humorismo consegue se esgueirar e
encontrar sua realizao: a ditadura se auto-intitulava uma democracia. No era
possvel, portanto, fechar o jornal diretamente, mas apenas apreender nmeros
e/ou processar e prender temporariamente seus membros sob alegaes esprias,
como foi o caso da priso justificada pelo Eu quero mocot no quadro de
Pedro Amrico. Segundo Victor Raskin sistemas repressores tentam forjar uma
imagem de aceitao perante o povo: Every repressive regime tries to pass itself
as being based on the clearly expressed preference of the people.302
O que caracteriza um regime autoritrio, diferenciando-o do totalitrio,
que aquele se apresenta ao povo como uma democracia, enquanto este se revela
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
deliberadamente como realmente . Da que essa lacuna entre o que se dizia e o
que se fazia tenha sido to profcua para o humorismo. O humor poltico
frequentemente lana mo daquilo que Freud denomina engenho rpido,
processo no qual ocorre uma imediata inverso de uma sentena (uma frase de
uma autoridade, por exemplo), funcionando quase como um golpe de jud, em
que se usa o peso do prprio oponente para atir-lo ao cho. Desse modo foi
possvel que alguns esforos do aparelho censor fossem usados contra ele prprio.
Em 1971, durante um dos perodos mais turbulentos do regime militar, Millr
chamou ateno para o fato: O estranho que, num pas com mais de 60% de
analfabetos, a grande preocupao do Poder Pblico seja o que dizem meia dzia
de escritores.303
Na stira milloriana, so muitos os casos em que a poltica surge como
tema. Poderamos afirmar at que esse o assunto mais recorrente na sua vasta
obra, uma vez que o autor acredita que ter uma posio contra o que quer que
301
HERTZLER, Joyce O. Op. cit., p. 144. [Eles centram nos absurdos, fraquezas e enganos que
apontam para os excessos do ditador surgidos da sua ignorncia ou incompetncia; satirizam o
salvador auto-nomeado ou nomeado pela faco, ou heri, ou o homem perfeito, ou super-homem
o todo-poderoso e sabe-tudo; eles pem luz sobre as realidades grotescas e falhas absurdas do
regime. Em geral eles utilizam uma das situaes-chave de riso: a incongruncia bvia entre os
planos pretensiosos e grandiosos e promessas numa mo e as banalidades e fracassos no outra].
302
RASKIN, Victor. Semantic Mechanisms of Humor, p. 232. [Todo regime repressivo tenta se
passar como sendo baseado na preferncia claramente expressa das pessoas].
303
FERNANDES, Millr. O livro vermelho de pensamentos de Millr, p. 111.
157
esteja no poder seja uma necessidade fundamental, e se mantm atento a todo fato
poltico que atravesse o seu permetro de crtica.
Mesmo quando a abertura poltica j era fato consumado, Millr no
deixou de observar atentamente o momento pelo qual o pas passava. Em 1985,
percebeu que a nova democracia mantinha traos do governo militar, e aproveitou
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
para conclamar os humoristas para exercerem sua funo na sociedade:
Um espectro assusta o pas o espectro do humorismo a favor. Todas as foras
reacionrias se reuniram pra transmitir a ideia de que o pequeno ncleo de
democratas que milagrosamente conquistou o Poder irretocvel e irrepreensvel.
Pois em torno dele j grudou a craca parasitria do regime anterior.
Com isso e em nome do no revanchismo peculatrios, oportunistas, deixadissos, sobrinhos e falces se preparam pra que haja uma verdadeira revoluo no
pas; desde que tudo fique exatamente igual.
O nico local de Braslia administrado com absoluta competncia nos ltimos
seis anos,a estrebaria, j est preparado pra receber o cavalo de Tria. E Incittus
j anunciou sua candidatura ao Senado, pelo Rio.
Cabe a ns, profissionais das transparncias, no perder um minuto. Dar nome
aos bois. E aos cavalos.
Humoristas do Brasil, uni-vos!
Nada tendes a perder, a no ser a tristeza do povo.304
Millr atentou sempre para o no esquecimento da histria recente do pas,
e para isso utilizou o recurso da manipulao da linguagem para estabelecer as
relaes entre passado e presente:
Antigamente eles chamavam aquilo de Democracia Relativa porque era uma
Ditadura Absoluta.
Agora eles chama isso de Democracia, e apenas uma Democracia Relativa.
Em ingls se entende melhor Relative Democracy.
Democracia de parentes.305
A seriedade ou suposta seriedade das convenes sociais e das
relaes de poder podem ser dissolvidas pelo humor, como se mostrou. No livro
Razes do riso, Elias Saliba ressalta que o humor consiste num sentimento do
contrrio: A atitude humorstica desmistificadora por excelncia, porque no
momento mesmo que as formas lgicas tentam deter e paralisar esse fluxo, o
humorista mostra que elas no se sustentam e revelam o que elas so:
304
Idem. Dirio da Nova Repblica, p. 1.
Idem, Ibidem, p. 31. Millr notou que, a despeito das mudanas ocorridas, as mesmas pessoas
continuavam a mandar no pas: Conciliao, no Brasil, significa, j ficou visvel, deixar extorturadores sentar na mesa dos direitos humanos, ex-corruptos decidir a nova probidade, exfascistas redigir as novas leis (e existem ex nessas caractersticas?). p. 99.
305
158
mscaras.306 A representao humorstica, como o caso da obra milloriana,
teria essa capacidade de mover o tecido social, lanando foco para alm das
normas e, desse modo, transgredir um certo limite que no se quer ou no se
pode ultrapassar, seja para o funcionamento dessa mesma sociedade, seja para o
estabelecimento das estruturas de poder. Saliba afirma que esse movimento
revelador seria
aquele esforo inaudito de desmascarar o real, de captar o indizvel, de
surpreender o engano ilusrio dos gestos estveis e de recolher, enfim, as
rebarbas das temporalidades que a histria, no seu constructo racional, foi
307
deixando para trs.
Millr utilizou o humor como um meio de questionamento da realidade
poltica do pas, apontando sua caneta, pincel, lpis e principalmente sua
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
potncia criativa para o poder estabelecido, e esse objeto do seu riso ficou patente
em diferentes contextos sociais ao longo do sculo XX e incio do XXI. E foi
influenciando geraes de humoristas e no humoristas que contribuiu para se
criar uma viso de mundo mais questionadora e flexvel.
Vejamos alguns aspectos de como esse processo se deu, observando
alguns recursos de criao millorianos.
5.3 Millr e a palavra: lego-lngua
No so frases comprometidas com
qualquer programa poltico, muito menos
palavras de ordem de grupos organizados
para combater o governo, mas so frases que
manifestam um esprito inequivocadamente
contestador, subversivo, na medida em que
de algum modo desestruturam o pensamento
estratificado, as ideias que se apresentam
como irreversivelmente constitudas.
Leandro Konder
306
307
SALIBA, Elias Tom. Razes do riso. p. 27.
SALIBA, Elias Tom. Op. Cit., p. 29.
159
O humor escrito, tal como o entendemos aqui, construdo a partir de uma
srie de recursos especficos de linguagem. Como j vimos, na obra de Millr,
pela sua extenso, pode ser encontrada toda uma diversidade de malabarismos
lingusticos dos quais o autor lana mo para atingir o efeito humorstico
desejado. E com essa amplitude possvel explorar as mais diferentes
manifestaes da palavra, deslocando-a do seu sentido comum por meio da
converso humorstica.
Chamemos de converso humorstica o processo pelo qual a palavra (ou o
conjunto de palavras) se afasta do seu sentido original e se apresenta com uma
nova carga de significado. A converso humorstica a fasca transformadora da
linguagem, esteticamente equivalente experincia da criao potica por se tratar
de uma abstrao que ao mesmo tempo proposital e de espanto. Converter
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
humoristicamente uma palavra ou ideia requer tambm a manuteno do
significado inicial, pois a experincia do humor no est situada isoladamente na
percepo de um significado novo, mas no deslocamento que ocorre as duas
posies. Por isso que, como j mencionamos, o humor trabalha com um certo
esquecimento, de um tipo simulado ou fingido, mas nunca um esquecimento total.
Se dissermos quem ama o feio bem rico lhe parece, preciso que o interlocutor
se esquea parcialmente do provrbio original, enquanto se abre para receber a
nova sentena. O humor ocorre como uma abstrao consciente.
Como recurso de linguagem, as relaes de condensao e deslocamento
oferecidas pelas sugestes metafricas e metonmicas so amplamente utilizadas
na produo humorstica. Se entendermos essas figuras como meios de
transposio, como uma passagem de uma ideia para outra, poderamos dizer que
o humor, enquanto recurso, seria uma derivao da metfora e da metonmia, por
apresentar essas caractersticas como um dos seus pressupostos. Inclusive por se
utilizar frequentemente da subjetividade metafrica e da materialidade
metonmica.
O problema, no entanto, no to simples assim, porque o efeito
humorstico s pode ser alcanado se houver no apenas o entendimento das duas
naturezas, mas tambm, como j afirmamos, uma conscincia de que houve a
inteno de produzir um efeito humorstico. Tomemos como exemplo a sentena
ela era uma rosa, mas com espinhos. Bergson explica que a materializao de
160
uma metfora, convertendo-a de sentido figurado para sentido prprio, gerado
um efeito cmico. Se a frase fosse ela era uma rosa, mas com espinhas, entram
outras categorias de entendimento. Entendimento que no exclui o da primeira
sentena, mas acrescenta-lhe algo. Na metfora h perdas e ganhos decorrentes
dessa transposio. No humor, seria possvel dizer que tanto a perda quanto o
ganho so maiores. A sugesto de espinhos no desaparece, mas se mantm
como um referencial que ir se submeter ao outro elemento de comparao
(espinhas, que se volta para a materialidade). O leitor ou espectador deve ser
capaz de efetuar o deslocamento dos signos para depreender um sentido
humorstico. Esse processo se realiza no nvel consciente, no intelecto, em fraes
de segundo, quase automaticamente. Cabe ao humorista simular essa
competncia de flutuao entre as vrias possibilidades da linguagem. No
exemplo dado, essa flutuao seria centrada no potencial humorstico contido na
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
substituio do fonema o de espinhos pelo a de espinhas.
Esse processo de abstrao suscitado pelo humor pode dar uma aparncia
de converso de um real complexo para uma forma simples, caracterizada pela
frivolidade. Porm essa transio abstrata de ideias complexas a formas
simplificadas ocorre com grande frequncia na sociedade, como por exemplo na
criao dos mitos. Transpor determinada palavra ou fato para a instncia
humorstica exige no uma atitude simplista, mas um esforo de perspiccia,
energia e criatividade. Maria Clia Paulillo, em estudo crtico sobre Millr, afirma
que essa postura do autor, ao se voltar para a linguagem, serve tambm como um
meio de questionar a condio humana:
A stira milloriana no se restringe s linguagens prprias de grupos sociais
especficos. H textos seus que chegam a questionar a prpria lngua, a
capacidade que o homem tem de se expressar, se comunicar com o seu
semelhante. quando Millr contesta, mais do que a linguagem, a supremacia do
ponto de vista antropocntrico. Ele mostra como a linguagem preconceituosa,
apontando, ironicamente, a existncia de outros modos de ver a realidade, alm
do assumido pelo homem adulto e civilizado.308
Explorar a linguagem como uma busca por um novo modo de ver a
realidade uma das facetas principais da obra de Millr. Ele tem como premissa,
inclusive, a relativizao de todo fato:
308
PAULILLO, Maria Clia Rua de Almeida. In: FERNANDES, Millr. Millr Fernandes, p. 98.
161
Olhar sempre de vrios ngulos para a percepo mais exata possvel do
acontecimento, na certeza de que tudo relativo, o que, bvio, elimina,
inclusive, a relatividade absoluta. Um sbio chins, escrevendo com caracteres
chineses, ser sempre analfabeto.309
Millr comea por brincar com as letras, modificando-lhes o estado
inicial de signo pelas sugestes imagticas: O A uma letra com sto. Chove
sempre um pouco sobre o craseado. O B um l que se apaixonou por um 3. Ao
C s resta uma sada. O cedilha, esse jamais tira a gravata.310 O texto vai
seguindo por todo o abecedrio explorando ludicamente as letras no seu aspecto
visual. O resultado que Millr d a elas o status de desenhos, retirando mais
sentido do que elas teriam a oferecer inicialmente.
Uma vez que as letras j foram revisitadas, chega a vez dos morfemas. O
Dicionrio EtmoLGICO pretende encontrar em algumas palavras sentidos
ocultos plausveis, porm no utilizados na linguagem do dia-a-dia.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Desmembrando a palavra em duas outras, obtm-se uma significao nova:
Dogmatizar misturar ces ingleses, Paisagem progenitores agem,
Tamanco apresenta-se claudicante311. J no Dicionovrio, algumas letras so
alteradas na palavra para que nela sejam encontrados novos sentidos:
Abacatimento reduo do preo do abacate, Calvcio mania de estar
ficando careca, Solto dono de harm, mas inteiramente livre de
compromissos312.
Na produo potica de Millr Fernandes, destacam-se os hai-kais. Esses
poemas japoneses, introduzidos no Brasil por Afrnio Peixoto em 1919 e
posteriormente popularizados por Guilherme de Almeida, constituram um
309
FERNANDES, Millr. O livro vermelho dos pensamentos de Millr, p. 19.
Idem. Millr definitivo: a Bblia do Caos, p. 9.
311
Idem. Trinta anos de mim mesmo, p. 109.
312
Idem. Ibidem, pp. 107-108.
310
162
formato que se serviu como luva para a poesia de Millr. Considerando que com
os anos esse formato no preciso seguir mais o esquema rgido das 17 slabas,
divididas entre 5-7-5 estabelecido nas primeiras dcadas de produo no pas, a
conciso mesclada liberdade se transformou num recurso eficaz para a
transmisso rpida de ideias, tiro rpido e certeiro.
Vejamos um exemplo: Na poa da rua / o vira-lata / lambe a lua313 Alm
da fora imagtica apresentada nos trs versos, temos a rima ua, aproximandose do movimento do uivo, e a assonncia da letra l da sequncia vira-lata / lambe
a lua. A beleza metafrica do ltimo verso, com apenas trs slabas poticas,
fecha o poema com uma imagem forte e inusitada.
Na breve introduo do seu livro de hai-kais, Millr tambm comenta
sobre o prprio conceito desse tipo de poema. Primeiramente na traduo do
original haiku para o portugus, quando se verteu geralmente por hai-cai. Essa
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
forma se deu, segundo ele, por certa resistncia letra K pelo simples fato dela
ter aquele ar agressivamente germnico e s andar com passo de ganso314 quanto
pela homofonia da segunda slaba com outra palavra da lngua portuguesa,
designativa de certa parte do corpo de mltipla importncia fisiolgica. Essa
palavra os fillogos s usam a medo.315 Mas apesar dessas questes, Millr
reconhece que o hai-kai um formato sobretudo popular, e que pode ser usado
com fins humorsticos no mais metafsico sentido da palavra316.
313
Idem. Hai-kais. P.
6.
314
Idem, ibidem. P. 3
315
Idem ibidem. P. 3.
316
Idem ibidem. P. 3.
163
O questionamento da forma como base para a alterao de contedo so
marcantes em outros formatos na obra milloriana. So bastante conhecidos os
textos do livro Fbulas fabulosas, voltados no necessariamente para o pblico
infantil, mas utilizando a sua estrutura para os mais diversos fins humorsticos,
incluindo at a moral ao fim de cada fbula. interessante um tipo no qual
trocam-se os morfemas das palavras, fazendo com que o texto no tenha apenas
de ser lido, mas tambm reconstrudo pelo leitor. A baposa e o rode um bom
exemplo: Por um asino do destar uma rapiu caosa num pundo profoo do quir
no consegual saiu. Um rode, passi por alando, algois tum depempo e vosa a
rapendo foi mordade pela curiosidido.317 uma leitura extremamente ldica,
requerendo um esforo maior para reconhecer as palavras e recombinar as suas
partes.
O prprio ato de formar as palavras explorado no texto A vingana da
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
mqiuna, em que erros de datilografia espocam a todo tempo: DEISSTO leitor,
digo deisto lietor, de este artigo hoej, hoje. Por mas que eu queria, digo queira,
bater certo a maqiuna hoje no adianta-sae tudo erardo, digo errado318. Os
Poemas cinticos, nos quais as palavras so dispostas de modo a imitar o seu
significado, surgiram inclusive antes do movimento concretista319, do qual Millr
faz questo de no fazer parte, talvez por ser uma manifestao artstica oficial:
Na poca em que os fiz ainda no havia o Concretismo, que acho ser dos anos
50. A revista Noigrand, que teorizava sobre o movimento, declarou uma vez que
eu era o seu precursor (do movimento). Depois me esqueceram. Graas a Deus.320
317
Idem. Fbulas fabulosas, p. 101. Sobre esse tipo de texto, Millr comenta: Eu e meu irmo
Hlio (sem contar amigos, naturalmente do mesmo tipo de interesse) gostvamos de introduzir nas
conversas toda espcie de jogo de palavras, trocadilho, nonsense, totais bestialgicos que
deixavam os no iniciados perplexos. Acho que no existe uma espcie de experincia com
palavras, da lngua do p ao ltimo efeito de ressonncia, que no tenhamos usado. Graas a Deus,
pois vivo disso, Fopos de Esbula um dos resultados dessas antigas experincias ldicas. Trinta
anos de mim mesmo, p. 234.
318
Idem. Tempo e contratempo, p. 69.
319
Maria Clia Paulillo comenta as possveis influncias nesse aspecto da obra milloriana: Essa
postura experimentalista e ldica com a linguagem, voltada sobretudo para as camadas mais
concretas da palavra, como o som e o contorno das letras, lembra a poesia concretista, movimento
de vanguarda que se imps no Brasil a partir de 1956. Millr, entretanto, no teve qualquer vnculo
com esse movimento; alis, alguns de seus trabalhos coma linguagem so anteriores dcada de
50 (os Poemas Cinticos so de 1945, inspirados, talvez, na vanguarda europia do comeo do
sculo: os dadastas, os futuristas e, em parte, os surrealistas). E essa semelhana vem confirmar,
mais uma vez, a ideia inicial de que o discurso humorstico e em particular o do nosso autor
um discurso fortemente elaborado e literrio. Op. cit., 102.
320
Idem. Ibidem.
164
Se ele no quer fazer parte de movimentos artsticos especficos (o grupo
do Pasquim seria um caso parte), porque enxerga neles um risco de deixar de
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
ser do contra, passando a ser produtor de uma arte cujos efeitos contestatrios so
minimizados medida que se tornam oficiais. Desse modo que podemos afirmar
que Millr se situa margem das margens ou, melhor, dizendo, num lugar oposto
com relao ao que sugerem as regras mesmo as regras de vanguarda.
165
importante notar que essas diferentes maneiras de brincar com as
palavras no constituem uma atitude que se esgota em si mesma, ou seja, no o
brincar pelo brincar. Observando no todo da obra milloriana, percebe-se que os
jogos com as palavras fazem parte de uma perspectiva maior, que a dissoluo
do estabelecido. Da que mesmo os provrbios populares so reconstrudos sua
maneira (dos quais j vimos alguns exemplos), quebrando-lhes o gesso das
formas. O aspecto vivo da linguagem observado nas expresses do cotidiano,
que surgem e so esquecidas, muitas vezes sem que nos demos conta:
Pra riba de mo, Foi pra cucuia, Comigo no, violo, batatolina,
Conheceu, Zebedeu?, Neres de pitibiriba, Ela muito soltinha: algum se
lembra dessas frases? Pois , a lngua assim, dinmica, hoje aqui e amanh... no
limbo. (Como tudo e todos)321
Consciente de que a linguagem passvel de questionamento, a obra
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
milloriana salta mais profundamente para o mbito da vida social quando entram
em questo discursos especficos. O modo de expresso de determinados grupos
sociais ou profissionais parodiado, tendo suas tcnicas reproduzidas
humoristicamente. So bastante conhecidas as Compozissis infatiz, nas quais a
realidade mostrada da perspectiva infantil, como se o assunto abordado fosse
uma novidade, geralmente j imperceptvel para o olhar adulto: Escrever
maneira infantil um experincia simples, se voc tem uma certa capacidade zen
de se abstrair de toda uma conceituao que lhe impuseram desde o bero, voltar
s origens.322 Assim como no discurso infantil, a sintaxe basicamente
coordenativa, e o lxico mais concreto. Vejamos como Millr descreve a gua,
segundo a sua simulao do ponto de vista infantil:
A gua uma substncia fria e mole. No to fria quanto o gelo nem to mole
quanto a gema do ovo porque a gema do ovo arrebenta quando a gente molha o
po e a gua no. A gua fria mas s quando a gente est dentro. Quando a
gente est fora nunca se sabe a no ser a da chaleira, que sai fumaa. A gua do
mar mexe muito mas se a gente pe numa bacia ela pra logo. gua serve para
beber mas eu prefiro leite e o papai gosta de cerveja. Serve tambm pra tomar
banho e esse o lado mais ruim da gua. gua doce e salgada quando est no
rio ou no mar. A gua doce se chama assim mas no doce, agora a gua salgada
bastante. A gua de beber sai da bica mas nunca vi como ela entra l. Tambm
no chuveiro a gua sai fininha mas no entendo como ela cai fininha quando
chove porque no cu no tem furo. A gua ainda serve tambm pra gente pegar
321
322
Idem. Millr definitivo: a Bblia do caos, p. 284.
Idem. Trinta anos de mim mesmo, p. 232.
166
resfriado que quando ela escorre pelo nariz. Fora isso no sei mais nada da
gua.323
O texto fornece maneiras pouco convencionais de observao do assunto.
Pouco convencionais para um olhar j acostumado a enxergar na gua apenas as
caractersticas necessrias para o entendimento do homem comum. O importante
no necessariamente a perspectiva infantil, mas o fato de apresentar novas
possibilidades de estabelecimento de conceitos. Tal proposta humorstica resume
eficazmente a grande marca da obra milloriana, que o questionamento das
imposies sofridas pelo homem ao longo da vida.
Segundo Breno Serafini, em percuciente tese sobre Millr Fernandes,
afirma que o Guru do Meyer com frequncia esteve frente dos movimentos de
vanguarda. Se foi concretista antes do Concretismo, na dcada de 1980 foi
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
pioneiro no uso da tecnologia para a criao, como um recurso natural, nem para
ser desprezado tampouco para ser louvado:
Nesse verdadeiro embate entre integrados e apocalpticos, a prpria obra
milloriana apresenta-se, formalmente, como vanguarda. Millr foi um dos
primeiros artistas brasileiros, pelo menos na imprensa, a utilizar-se da
tecnologia computacional.324
323
324
Idem. Ibidem, p. 19.
SERAFINI, Breno. Millres dias viro. P. 80.
167
Millr tambm questiona o uso da linguagem em profisses especficas,
sempre visando a uma reavaliao desses mesmos discursos. A prpria expresso
sem exprimir nada observada criticamente:
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
O falar vazio a profisso do sculo. Donde espqueres, que no sabem o que
lem. Polticos, que no pensam o que falam. Propagandistas, que no compram o
que anunciam. H ainda um falar vazio estratgico: que o falar vazio
enquanto se pensa no que se vai dizer. O homem que fala vazio diminui um
pouco a sua falao no dia em que descobre que isso se chama psitacismo.325
Outro recurso de criao ocorre quando Millr converte discursos
especficos em humorsticos por encontrar neles aspectos j estabelecidos e
inflexveis. Ele cria ento um outro discurso, paralelo ao original, que reproduz
alguns desses paradigmas de maneira irnica. Observemos novamente o soneto
milloriano, em que estruturalmente se trata de um poema convencional, mas a
forma, ao se chocar com o contedo, cria um efeito humorstico:
Penicilina puma de casapopias
Que vais penia cataramascuma Se
partes carmo tu que esperepias J
crima volta pinda cataruma.
Estando instinto catalomascoso
Sem ter marvote fide lastimina
s todavia piso de horroroso
E eu reclamo Pina! Pina! Pina!
Casa por fim, morre peridimaco
martume ezole, ezole martumar
325
Idem. Trinta anos de mim mesmo, p. 61.
168
que tua pra enfim mesmo um taco.
e se rebela capa de causar
estrumenente siba postguerra
enfim ir, enfim ir pra serra.326
A tradio, principalmente a parnasiana, requer sonetos estritamente perfeitos, e
melhor ainda se as palavras usadas forem termos rebuscados. A possibilidade
declamatria exige grandiloquncia e nobreza nessa expresso potica por muitos
considerada perfeita. Exagerando no lxico, cria-se um soneto humorstico que assim o
por levar a cabo essa caracterstica da potica tradicional. Millr afirma que tambm
criticava a poesia contempornea (o texto de 1945, ano importante por marcar uma
gerao caracterizada, inclusive, pela retomada de formas fixas nos poemas,
pouco
usadas anteriormente na produo da poesia modernista): O soneto acima no pretendia
apenas ser uma ironia a formas mortas de poesia, mas revelava ainda aquele gosto
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
humorstico de combater as coisas ainda no fixadas, no caso um certo palavreado vazio
da prpria poesia moderna.327 A poesia moderna a que Millr se refere , talvez,
aquela marcada pelas experimentaes do Modernismo. Embora ele mesmo utilize
recursos surgidos nesse movimento, como o poema-piada e a forma livre, o ponto de
interesse no soneto acima o questionamento do falar vazio, das palavras-placebo, a
crtica geral s vanguardas e retaguardas (j que o humorismo, como j vimos, chuva
cida que cai sobre o todo, o humorista inclusive).
Millr observa tambm o modo como a realidade apresentada pelos
meios de comunicao de massa. A linguagem jornalstica, por exemplo,
recriada no texto O que eu entendo dos jornais. Notemos que a perspectiva tem
algo em comum com as Compozissis infatiz, na medida em que os equvocos
propositais suscitam uma nova viso do fato. O texto embaralha as palavras
buscando, antes do riso, alertar para a maneira rgida com a qual essa realidade
geralmente nos mostrada. Vejamos, por exemplo, como recriada a notcia
intitulada Assalto: Um grupo de perigosos cidados assaltou, ontem noite,
dois pacficos meliantes. Trs detonaes ocorreram ao rudo de um guarda. Uma
calada jazia sobre a vtima de um dos cadveres. A pista j est na polcia do
assaltante.328 Deslocando os vocbulos da sua ordem convencional, possvel
326
Idem, ibidem, p. 14.
Idem, ibidem, p. 232.
328
Idem, ibidem, p. 90. Ainda no mbito jornalstico, Millr aponta para os editoriais: Uma
atitude de contestao no tem, necessariamente, que ser perigosa e pode at ser rendosa, pois, no
327
169
notar que esse tipo de notcia policial costuma vir pr-moldada, ou seja,
mecanicamente. O texto tenta, ainda, relembrar a capacidade de indignao
perante a morte. Processo similar encontrado no Poema tirado de uma notcia
de jornal329, de Manuel Bandeira, bastante conhecido por extrair efeito potico de
um fato (a morte de Joo Gostoso), como j expresso no ttulo, retirado de um
meio de comunicao de massa. A diferena que em Millr o texto sugere
fundamentalmente uma crtica ao modo vazio de apresentar a notcia.
Segundo Bakhtin, as palavras de um outro, quando introduzidas em nossa
fala, assumem inevitavelmente uma nova significao prpria, ou seja, tornam-se
palavras de duas vozes.330 Ao incorporar outros modos de escrita, Millr constri
um discurso parodstico que representa simultaneamente duas instncias: o novo e
o j conhecido. Diferentes registros podem ser absorvidos e imitados, tanto de
autores como de profisses. O jargo psicanaltico contraposto a expresses j
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
conhecidas, como um imbrglio de eufemismos que complica situaes simples:
No se sofre mais de coceira. Tem-se um tique.; Nossa respirao difcil?
Temos um complexo psicossomtico.; Evitamos, discusso? Somo submissos,
reprimindo agressividade.; Solitrios? Neca dependentes em fuga.331 A
crtica se volta contra os termos usados na psicanlise, que para Millr constituem
um palavrrio vazio: Psicanalista um mgico que tira cartolas de dentro de
coelhos.332 No cabe aqui questionar a eficcia do mtodo psicanaltico, mas
observar o sentido para onde segue o texto milloriano, que sempre o de
descortinar uma falsa aparncia. No caso, a falsa aparncia construda com
palavras.
hostilizando os poderosos, mantm viva, para os oprimidos, a imagem de nossa rebeldia. Como
orientao basta ler, diariamente, editoriais dos grandes jornais brasileiros, editoriais geralmente
magnficos. No dizem absolutamente nada. Mas so contra. (Contato com Antnio Calado,
jornalista, teatrlogo, romancista, 1971) O livro vermelho dos pensamentos de Millr, p. 12.
329
Cf. BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira, p. 107.
330
BAKHTIN, Mikhail. A tipologia do discurso na prosa. In: LIMA, Luiz Costa (org). Teoria
da Literatura em suas fontes, p. 216.
331
FERNANDES, Millr. Tempo e contratempo, pp. 66-69. Millr comenta, em 1998, sobre essas
definies: A psicanlise no tem cura. Id., Ibidem.
332
Idem. Millr definitivo: a bblia do caos, p. 396.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
170
Dentre a capacidade de simular registros especficos de profisses e
autores, interessante notar o pastiche de Guimares Rosa, no texto O que
tivesse de ser, somente sendo, em que a histria de Chapeuzinho Vermelho
contada maneira do autor de Sagarana. Vale lembrar que o prprio Guimares
j havia escrito a sua verso do clssico infantil, no conto Fita verde no cabelo:
No contravisto do caminho, Capuchinho Purpreo ia frente, a com lgua de
andada, no desmedo da Floresta. O bornoz estornava demasias de gula,
carnalidades, guleimas, bebeiras e pitanas pra boca de pessoa, a v, sem nem
aviso antes. Sente o muito bicho retardar, ponderado. Hora de poder gua beber,
esses escondidos. Por ali sucuri geme. O cu embola no brilho de estrelas, cabea
de Chapeuzinho vai que esbarra nelas. um escuro que peia e pega. Dali vindo,
um senhor Lobo, na frente da boca todos os demais dentes de caso quisesse.
(...)
Nem todo mundo carece, mas tem os que. No mais, nada. O que termina acaba.
Viver muito perigoso, compadre meu Quelemm.333
As caractersticas da obra de Guimares Rosa podem ser facilmente
notadas, principalmente a criao de palavras, gerando uma sensao de surpresa
e estranhamento. Millr explora a linguagem como algo flexvel e manipulvel
sua vontade. Sua capacidade artstica lhe permite converter humoristicamente
desde letras do alfabeto at discursos. Ao simular a linguagem de um grupo ou
profisso, exerce uma crtica com as mesmas armas do seu oponente; ao escrever
333
Idem. Tempo e contratempo, p. 83. Nesse mesmo livro a histria reescrita maneira de
Franklin de Oliveira, David Nasser, Austregsilo de Athayde e Rachel de Queiroz.
171
pastiches de autores cuja linguagem esteticamente reconhecida, afirma o seu
talento de poder entrar em qualquer camada de linguagem. Se a linguagem e
deve ser algo eminentemente flexvel, a linguagem do humorista tende a ser
muito mais. Millr fala sobre a sua facilidade em imitar outros autores:
No tempo da revista O Cruzeiro, onde trabalhei 25 anos, costumava pastichar
Rachel de Queiroz, Franklin de Oliveira, David Nasser trs reportagens deste
foram escritas por mim, a pedido. Nos romances folhetins de Nelson Rodrigues,
como Meu destino pecar, era brincadeira usual minha introduzir trechos
enquanto Nelson falava ao telefone. Quando ele voltava, lia o trecho introduzido,
ria surdo ah! ah! e continuava dali mesmo. Em 1969, a quase totalidade dos
redatores do Pasquim presos, houve um nmero do jornal em que tive que
escrever artigos de vrios desses redatores, imitando seus estilos. A propsito:
no se pode ser um bom tradutor sobretudo em teatro sem grande capacidade
mimtica. Seno, como traduzir ao mesmo tempo Shakespeare e Molire?334
H alguns anos, o deputado Jos Aldo Rabelo apresentou um projeto de lei
punindo quem abusasse de estrangeirismos, principalmente nos meios de
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
comunicao. Seria uma imposio cerceadora da liberdade de expresso. Millr
no poderia ficar indiferente diante de tal fato, e publicou o texto Legislador, no
passes da corrupo:
A lngua a mais complexa, a mais milagrosa, a mais estranha, a mais gigantesca
e variada inveno humana. E nada mais dinmico e menos sujeito a tutelas
autoritrias. Agora, mais uma vez, v-se um cidado, 'eleito pelo povo, propor
uma lei proibindo o uso de palavras estrangeiras em nosso cotidiano,
hebdomadrio e at anurio.
Pera a: estava em sua proposta de governo que ele tinha autoridade para interferir
no que eu falo, escrevo ou pinto em minha tabuleta? Ele sabe, literalmente, do
que est falando? Quanta idioletice!
PS: No adianta correr ao Aurlio.335
Embora a inteno do candidato tenha sido evitar o exagero com que as
lnguas estrangeiras principalmente o ingls so utilizadas quando h
equivalentes em portugus. A aplicao de multas (de at R$30.200,00) como
forma de punio, no entanto, j seria uma forma de exercer censura. Millr no
hesita em manifestar seu repdio a essa forma de autoritarismo. O artigo fez com
que
deputado
movesse
processo
contra
humorista,
alegando
comprometimento da honorabilidade, apesar de o seu (do deputado) nome no
ter aparecido nenhuma vez no texto.
334
Idem. Millr definitivo: a bblia do caos, p. 257.
FERNANDES, Millr. Legislador, no passes da corrupo. JB Online. Disponvel em
<www.jb.terra.com.br> Acesso em: 25 nov. 2001.
335
172
A linguagem est sempre se movimentando. E os humoristas so
extremamente necessrios para observar no apenas as suas mudanas naturais
ocorridas no processo histrico, mas tambm as tentativas arbitrrias de fazerem
da lngua um instrumento limitado a pressupostos rgidos.
Millr Fernandes, com sua ampla lucidez e a mltipla habilidade como
autor de imagens e textos , utilizou a palavra com um sentido ldico e crtico
que culminou numa das obras criativas mais completas da lngua portuguesa e da
sociedade brasileira, a qual cutucou humoristicamente ao longo das mais de sete
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
dcadas em que produziu.
173
6
O HOMEM O BOBO DO HOMEM
Nosso objetivo neste trabalho foi estabelecer algumas relaes entre
humor e poesia em momentos distintos. Ambos os campos, humor e poesia,
constituem mltiplas galxias de vertentes, possibilidades e perspectivas de
investigao terica. Optamos por puxar alguns fios e tecer uma tese que, longe
da pretenso de encerrar esses olhares sobre esse objeto, buscou entender trs
modos especficos dessa produo literria em momentos distintos. O humor,
prprio e exclusivo do homem, pode ser usado como recurso quando o indivduo
tenta observar o outro poeticamente; assim como a poesia se traduz num recurso
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
quando esse mesmo indivduo quer se observar humoristicamente.
Vimos que o humor pode ser usado com um tipo de arma social em vrios
sentidos, e inclusive como arma literria. Emlio de Menezes, com sua
mordacidade afiada, transitou, via riso sardnico em forma de sonetos, da rejeio
oficial para a consagrao acadmica. Estabeleceu-se na imprensa e, conquanto
angariasse desafetos, tornou-se tanto admirado quanto temido, tendo por fim
alcanado a ento mxima glria de ser eleito para a Academia Brasileira de
Letras. Em termos tericos, trata-se de uma potica que traduz diretamente a
teoria da superioridade do humor.
Observamos tambm que o Modernismo o humor teve funo
predominante. Buscando transgredir com uma arte comportada vigente, Oswald
de Andrade viu no humor um veio de liberdade das amarras que, na ocasio,
tornavam a cultura brasileira anacrnica com o que se produzia na Europa.
Segundo a linha da teoria da incongruncia, esse humor apontou para as
contradies estticas, as quais fizeram parte de um projeto deliberado de se
repensar o pas e sua cultura.
Se o humor presente no projeto do Modernismo no legou uma liberdade
absoluta na produo potica brasileira pelo contrrio, o pndulo vanguardatradio continuou a balanar ao longo do sculo XX, vimos que desvinculado de
escolas ou grupos pode-se encontrar uma potica livre e que atingiu pontos
nevrlgicos da crtica social ao longo de dcadas, como no caso da obra de Millr
174
Fernandes. Esse artista utilizou o humor em toda sua obra, incluindo a poesia,
como principal modo de veiculao de um pensamento ldico e lcido.
Mas e hoje? Como o humor se coloca crtica e poeticamente? A grande
dificuldade do humor contemporneo realizar as crticas diante de um
referencial poltico fragmentado e em constante mutao. Vivemos numa
democracia aparente, e o humor j no uma das poucas vlvulas de escape para
o povo. A banalizao da violncia, da corrupo, enfim, de todos os nossos
absurdos feita pela exposio constante e hipntica ofusca uma possibilidade de
indignao geral. O alvo do humor da semana passada j no serve tanto hoje,
tendo sido substitudo por outro que tambm ir evaporar em breve. No h
humor crtico sem que o receptor possua uma predisposio crtica. Na sociedade
regida pelo esquecimento, o humor tambm tende a ser voltil, exercendo uma
funo meramente de passatempo, condenado pirotecnia das atraes efmeras.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
Joyce O. Hertzler afirma que, nos ltimos anos o humor contestatrio vem
declinando, em grande parte devido ao conformismo. Estaria a sociedade ficando
cada vez mais mecanizada (ou automatizada), incapaz de resgatar a flexibilidade
de pensamento? Vemos nas mdias sociais uma fonte inesgotvel de
manifestaes humorsticas, mas ser que o humor no se torna mais uma vez
parte do contexto em que feito, e tambm se dilui com a mesma facilidade com
que surge? A investigao do fenmeno humorstico em pocas digitais exige
uma abordagem que deve considerar uma srie de diferenciais caractersticos dos
nossos dias. Se pensarmos que a revoluo digital vem provocando contnuas
alteraes na sociedade e na forma de se observ-la, e que o humor uma
necessidade humana e, portanto, faz parte desse caldo cultural, teremos um novo e
amplo campo de anlise.
Em todos os perodos da nossa histria cultural, o humor lanou mo de
todas as tecnologias disponveis. O acesso a um grande nmero de pessoas e a
velocidade com que a informao se propaga, somado os inmeros recursos das
novas mdias, fizeram com que um verdadeiro banquete do riso esteja servido
para as massas. Dentre as muitas formas de manifestao humorsticas recentes,
os chamados virais tm sido uma grande forma de riso instantneo e amplamente
difundido. Se o humor esteve sempre atrelado ao jornal impresso como principal
meio de se difundir, hoje ele se escoa principalmente pelo chamado humor viral.
175
O conceito do humor viral derivado do campo publicitrio, cujo objetivo
disparar peas com grande capacidade de replicao entre os consumidores, no
muito diferente do tradicional boca a boca. No entanto, um diferencial de uma
ao de marketing para um vdeo de humor viral que, neste caso, no se busca
vender um produto ou marca, e sim compartilhar aquilo que se ache engraado.
Tomemos o caso do "Nissim Ourfali Bar Mitzv", vdeo que entre agosto e
setembro de 2012 vem sendo replicado ad nauseam, tendo sido assistido mais de
dois milhes de vezes336.
Como muitas vezes acontece nesse tipo de fenmeno, o vdeo no foi
produzido para se tornar um viral. Trata-se de um vdeo produzido pela famlia do
jovem Nissim para celebrar o bar mitzv, cerimnia da cultura judaica que marca
a maioridade dos meninos ao completarem treze anos. Segundo a produtora, o
contedo do vdeo foi gerado a partir de um questionrio respondido pela famlia,
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
sendo que o prprio rapaz escolheu a msica na qual sua histria de vida seria
baseada ("What makes you beautiful", da banda pop inglesa One Direction). A
famlia postou o vdeo no Youtube e retirou quando se deu conta de que a
replicao saa do controle. Mas outros sites j haviam replicado e no havia mais
como controlar a disseminao. Sendo viral, no h controle. Mas o que nos
interessa aqui : o que torna um vdeo feito para um rito de passagem de um
adolescente to engraado a ponto de se tornar um dos assuntos mais recorrentes
no cotidiano de tantas pessoas?
Alguns aspectos do vdeo tornam ele to simples quanto provocador do
riso. O primeiro que o vdeo construdo sobre uma pardia de uma msica
pop. Alis, talvez no se aplique o termo pardia (para + ode, uma ode cantada ao
lado da outra), cujo objetivo geralmente zombar da referncia, e sim uma
parfrase, que lana mo de uma mesma estrutura preenchendo-a com outro
contedo. Baseada numa cano de ritmo popular, essa nova se tornou o que se
costuma denominar "chiclete", aquele tipo de msica, ritmo ou refro que o
indivduo repete incessantemente, mesmo, num certo nvel, contra sua vontade.
No entanto, a nosso ver esse no o principal motivo de o vdeo ter se tornado um
336
Posteriormente, a famlia de Nissin Ourfali pediu na justia que o vdeo fosse retirado do canal,
face o constrangimento causado ao protagonista.
176
meme (recurso cmico para designar uma imagem instantaneamente difundida
pela internet), e sim porque foram aplicadas novas perspectivas sobre ele.
O humor encontrado ali involuntrio, ou seja, surgiu porque algum
encontrou num vdeo que tinha outro objetivo geralmente mais srio
determinado trao que, quando observado de outro ngulo, se torna risvel. O
verso "e o melhor quando vamos pra Baleia" vem sendo mote de uma srie de
pardias (agora, sim, com a acepo correta) na internet, especialmente porque
muitos no sabiam que se trata de um local no litoral de So Paulo, o que gerou
interpretaes ainda mais arbitrrias e engraadas. Processo similar de retirada de
um trecho do seu contexto se deu com o meme "menos a Luza, que foi pro
Canad", trecho de uma propaganda imobiliria que se tornou um hit da internet
h pouco tempo.
Esse carter desviante faz com que uma vontade inicial de aplicar um
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
sentido seja manipulada e, de sujeito, torna-se um objeto. O formalista russo
Vladmir Propp, na sua referencial obra Comicidade e riso, explica esse tipo de
fenmeno: O riso nasce quando a vontade passa a ser de repente menosprezada e
derrotada e quando essa derrota se torna visvel a todos atravs de sua projeo
exterior.337 Cabe lembrar que no se trata de uma derrota no sentido pejorativo.
No caso, uma inteno que distorce e reverbera - de forma maciamente
ampliada - em outro rumo. Desse modo, a curva arbitrria entre a situao a
(celebrao da biografia do jovem) e b (criao de um meme pela reinterpretao
pblica do vdeo) geraram uma situao nova. Ou uma srie de situaes novas.
Um exemplo claro da teoria da incongruncia. A trajetria do menino,
descrita no vdeo, revela uma tpica famlia bem sucedida financeiramente.
Consumidores de bens materiais e emocionais - e no consumo de ambos h uma
relao de interdependncia - que a sociedade contempornea valoriza. De certo
modo, um modelo de comportamento tambm est sendo criticado no bojo da
popularizao do vdeo. O filsofo francs Henri Bergson afirma, no seu livro O
riso, que o sentido cmico surge quando a sociedade se v imersa numa rede de
aparncias, revelando algo que estaria errado. A teoria bergsoniana define o riso
como uma manifestao coletiva no nosso caso exercida pela coletividade
annima dos replicadores invisveis da web , cuja finalidade est relacionada
337
PROPP, Vladmir. Op. cit. P. 177.
177
vida comum em situaes cotidianas. Pela zombaria, o homem reconhece que
algo precisa ser mudado dentro do corpo social, seja para corrigir, seja pra
transgredir uma situao que est mecanizada ou fora dos eixos, e para isso,
oferece um novo sentido para esse objeto.
A forma de sano social pela qual o jovem tmido foi lanado
publicamente, cantado em ritmo pop a sua jornada at a cerimnia, converteu-se
num fenmeno risvel, cuja gargalhada amplificada pelos megafones da internet,
ecoando com tal alcance e velocidade nunca vistos. At, pelo menos que surja a
prxima.
Esse modelo de humor vigente, somado aos canais miditicos, parece ter
se distanciado da poesia, que segue rumos diferentes numa pluralidade de vozes
contemporneas que no forma um todo. Fora as manifestaes populares de que
no tratamos aqui, como o cordel e o repente, a poesia desse incio de sculo XXI
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
se tornou muito sria, hermtica, buscando um status de arte transmiditica pelo
contato com as artes visuais e a performance teatral.
preciso tempo para a poesia, tempo que parece faltar ao homem
contemporneo. Segundo Antnio Ccero, justamente por essa celeridade
mesclada ao utilitarismo que no deixa tempo para o pensamento sobre ns
mesmos que a poesia se torna cada vez mais necessria: Configura-se ento um
espao-tempo livre, isto , um espao-tempo que j no se encontra determinado
pelo princpio do desempenho. Afinal, a rigor, o poema no serve para nada.338
Desse modo, a leitura atenta, silenciosa e reflexiva de um poema configura uma
atividade esttica que desafia um tempo atropelado e atropelante. O humor, de
certa forma, como no exemplo dos memes da internet, se adaptou ao mundo,
enquanto a poesia, em outra direo, continua a desafi-lo.
O poeta, por outro lado, muitas vezes se torna refm da indstria da
celeridade. A velocidade da comunicao e das relaes humanas em geral faz
com que o poeta, especialmente nas grandes capitais, no precise necessariamente
ser poeta, mas parecer um tipo de poeta que, estereotipado como eterno
vanguardista e transgressor de todas as normas, transite de forma espetacular entre
os crculos sociais alternativos, atue em outras atividades, especialmente como DJ
ou artista plstico, e corresponda ao modelo que o jornalismo cultural procura
338
CICERO, Antonio. Forma e sentido contemporneo: poesia. P. 10.
178
para celebrar como o artista do dia. Com todo o aparato em torno da imagem do
poeta, no de se espantar que ele sequer precise saber escrever poesia. No
raro se deparar com poetas conhecidos, badalados e celebrados que no
conseguem escrever um soneto ou mesmo uma quadra. E se orgulharem disso.
Esse legado que se arrastou do Modernismo at os nossos dias fez com que
houvesse uma inverso de valores, segundo a qual o conhecimento tcnico de
poesia se torna um defeito, conferindo a esse poeta-DJ uma associao a algo
antigo, ultrapassado e obsoleto, muitas vezes chamado de parnasiano, com o
sentido mais pejorativo que o termo possa adquirir.
Mas esse um tipo de poeta oficial, que sai nas mdias, no
representando um todo do cenrio heterogneo da poesia atual. Apesar dessa
busca pelo poeta da mdia que parece mas no poeta, l-se poesia. Sobretudo a
produo dos modernos, que lanaram mo de todas as formas poticas que se
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
colocassem sua frente, independente de movimentos ou escolas. Manuel
Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Cecilia Meireles, Mrio Quintana, por
exemplo, so cada vez mais lidos. Segundo o Instituto Proler, no relatrio
Retratos da Leitura no Brasil, buscou-se diagnosticar
medir
comportamento leitor da populao, especialmente com relao aos livros.
Revelou-se que quem mais l poesia no Brasil so os jovens de 11 a 17 anos.
Destaca-se tambm que, segundo a pesquisa, a Poesia o quinto gnero na
preferncia dos leitores, com 28%, inferior apenas leitura da Bblia, dos Livros
Didticos, do Romance e da Literatura Infantil, embora tais interesses sejam
tambm concomitantes. As mulheres leem mais Poesia (32%) do que os homens
(22%). E a escola ainda tem um papel fundamental nesse processo, pois a maior
faixa de leitores se situa entre os estudantes de 5a. a 8a. sries (35%) enquanto
que o nvel mais baixo (21%) corresponde aos de nvel superior, o que pode levar
a crer que se deve s atividades literrias em sala de aula.
Se crticos como Emil Staiger associaram a poesia juventude, ainda no
sculo XIX, no XXI ainda se trata de uma realidade. Os dados indicam que os
jovens e adolescentes entre 11 e 17 anos de idade tm a Poesia como o gnero
mais lido, enquanto que o percentual mais baixo (15%) est entre os leitores de 50
a 59, havendo uma ligeira recuperao (30%) dos 60 aos 69 anos. Ou seja, a
leitura de Poesia uma atividade exercida em sua maioria pelos jovens. Ceclia e
179
Drummond foram espontaneamente lembrados entre os sexto e stimo autores
brasileiros mais populares na pesquisa.
E assim como se l, escreve-se poesia. As novas possibilidades de
publicao por demanda ofereceram aos escritores a possibilidade de dispersar
seus livros em edies pequenas, e ainda que a cadeia de distribuio comercial
seja deficitria por motivos que no vamos arrolar aqui, escritores e leitores
passaram a estabelecer contatos como nunca, alm de se contar com a internet
como canal de vendas. E-mails, blogs e redes sociais permitem no s o contato
entre poetas entre si e com leitores, mas tambm vem democratizando o prprio
espao para que textos poticos sejam publicados e lidos.
Poesia e humor, assim, seguem caminhos paralelos, diferentes dos trs
modelos que investigamos neste trabalho. Mas como o pndulo de tradio e
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
rupturas continua a balanar, cumpre olhar para a frente e aguardar novas formas
de aproximao entre os dois. Mesmo porque, como se observou, ambos so
necessrios na nossa trajetria pessoal e social.
180
BIBLIOGRAFIA
ALBERTI, Verena. O riso e o risvel na histria do pensamento. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar : FGV, 1999.
ALMEIDA, Guilherme de. Poesia Vria. So Paulo: Livraria Martins, 1947.
. Voc. So Paulo: Companhia Editora Nacional, 1931.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
ANDRADE, Carlos Drummond de. Reunio: 10 livros de poesia. Rio de
Janeiro: Jos Olympio, 1973.
ANDRADE, Mrio de. Poesias completas. Belo Horizonte: Itatiaia; So Paulo:
Editora da USP, 1987.
ANDRADE, Oswald de. Memrias sentimentais de Joo Miramar / Serafim
Ponte Grande. Rio de Janeiro: Civilizao brasileira, 1971.
. Um homem sem profisso: sob as ordens de mame. So Paulo: 1976.
ARAS, Vilma. Iniciao comdia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990.
ARISTTELES. Arte retrica e arte potica. So Paulo: Cultrix, 1982.
. tica a Nicmaco. SP: Martin Claret, 2001.
AZEVEDO, lvares de. Lira dos vinte anos. So Paulo: FTD, 1999.
BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Mdia e no Renascimento: o
contexto de Franois Rabelais. SP: Hucitec; Braslia: Ed. UNB, 1999.
. Problemas na potica de Dostoievski. Rio de Janeiro: Forenseuniversitria, 1981.
BANDEIRA, Manuel. Noes de histria das Literaturas. Rio de Janeiro:
Fundo de Cultura, 1960.
. Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1983.
BARTHES, Roland. O prazer do texto. So Paulo: Perspectiva, 1999.
181
BELLI, Vnia. O prazer annimo: uma abordagem psicanaltica do riso na
literatura. Orientador: Prof. Dr. Affonso Romano de SantAnna. Rio de
Janeiro: Puc-Rio/ Departamento de Letras, 1999. (Tese de Doutorado)
BENTON, Gregor. The origins of the political jokes. In: POWELL, Chris,
PATON, George E. C. (org.) Humour in society: resistance and control.
New York: St. Martins, 1988.
BERGSON, Henri. O riso: ensaio sobre a significao do cmico. 2. ed. So
Paulo: Martins Fontes, 2001.
BOSI, Alfredo. Reflexes sobre a arte. So Paulo: tica, 1991.
BRGER, Peter. Negao da autonomia da arte pela vanguarda. In Teoria da
vanguarda. Trad. Jos Pedro Antunes. CosacNaify, 2008.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
CAMPOS, Paulo Mendes. Antologia brasileira de humorismo. Rio de Janeiro:
Editora do Autor, 1965.
. Poeta e humorista so siameses. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 11
ago. 2001. Caderno B, p. 1.
CARDOSO, Silvia Helena. Compartilhamos o riso com os animais. O Globo, 20
mai. 2002, p. 24.
CICERO, Antonio. Poesia e paisagens urbanas. In Finalidades sem fim. So
Paulo: Companhia das Letras, 2005.
(org.). Forma e sentido contemporneo: poesia. Rio de Janeiro: Eduerj,
2012.
COHEN, Ted. Philosophical thoughts on joking matters. Chicago: University
of Chicago Press, 2001.
COUTINHO, Afrnio. A literatura no Brasil. Rio de Janeiro: Jos Olympio,
1986.
DELEUZE, Gilles. Lgica do sentido. So Paulo: Perspectiva, 1994.
DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferena. So Paulo: Perspectiva, 1971.
ECO, Umberto. O nome da rosa. Rio de Janeiro: Record, 1986.
FERNANDES, Millr. Millr definitivo: a bblia do caos. Porto Alegre: L&
PM, 1996.
. O livro vermelho dos pensamentos de Millr. So Paulo: Senac,
2000.
182
. O teso - grande tese - do ocilogo doido. Jornal do Brasil, 20 jun.
2001. Caderno B, p. 1.
. Tempo e contratempo. So Paulo: Beca Produes Culturais, 1998.
. Trinta anos de mim mesmo. So Paulo: Crculo do Livro, 1976.
FIGUEIREDO, Claudio. Entre sem bater a vida de Apparcio Torelly, o
Baro de Itarar. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2013.
FONSECA, Joaquim da. Caricatura: a imagem grfica do humor. Porto
Alegre: Artes e Ofcios, 1999.
FREUD, Sigmund. O chiste e sua relao com o inconsciente. Rio de Janeiro:
Delta, 1959.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
FRY, William F. Sweet madness: a Study of Humor. California: Pacific Books,
1963.
ORTEGA y GASSET. La deshumanizacin del arte. In Obras completas, tomo
III. Madri: Revista de Occidente, 1946 [1925].
GEIER, Manfred. Do que riem as pessoas inteligentes? Rio de Janeiro: Record,
2011.
GRUNER, Charles R. Understanding laughter. Illinois: Nelson-Hall, 1978.
GURJO, Maria Ins. A tragdia brasileira narrada com muito bom humor.
Orientador: Prof. Dr. Antonio Edmilson Martins Rodrigues. Rio de Janeiro:
Puc-Rio/Departamento de Histria, 1994. (Dissertao de Mestrado)
HENFIL. Como se faz humor poltico. Rio de Janeiro: Vozes, 1984.
HERTZLER, Joyce O. Laughter: a socio-scientific analysis. New York:
Exposition Press, 1970.
HORCIO. Arte potica. So Paulo: Musa, 1994.
HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o jogo como elemento da cultura. So Paulo:
Perspectiva : Ed. USP, 1971.
HUGO, Victor. Do grotesco e do sublime. So Paulo: Perspectiva, 2007.
JOLLES, Andr. Formas simples. So Paulo: Cultrix, 1976.
JORGE, Fernando. A academia do fardo e da confuso. So Paulo: Gerao
Editorial, 1999.
183
JORGE, Sebastio. A linguagem dos pasquins. So Lus: Lithograf, 1998.
KONDER, Leandro. Baro de Itarar. So Paulo: Brasiliense, 1983.
LE GOFF, Jacques. O riso na Idade Mdia. In: BREMMER, Jan,
ROODENBURG, Herman (org). Uma histria cultural do humor. Rio
de Janeiro: Record, 2000.
LEWIS, Paul. Comic effects: interdisciplinary approaches to humour in
literature. New York: State University of New York Press, 1989.
LIMA, Vasco de Castro. O mundo maravilhoso do soneto. Rio de Janeiro:
Livraria Freitas Bastos S/A, 1987.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
LINSTEAD, Steve. Jokers Wild: humour in organizational culture. In:
POWELL, Chris, PATON, George E.C. (org.). Humour in society:
resistance and control. New York: St. Martins Press, 1988.
MAIA, Gleidys Meyre da Silva. Ri melhor quem ri por ltimo?: O riso
modernista e a tradio literria brasileira. (tese de Doutorado)
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Curso de Ps-Graduao em
Letras, Porto Alegre, 2006.
MAGALHES JUNIOR, Raimundo (org.). Antologia de humorismo e stira.
Rio de Janeiro: Bloch, [19--].
MARTINS, Wilson. Histria da Inteligncia Brasileira. So Paulo: Cultrix:
Ed. USP, 1977-78. V. 7.
MENEZES, Emlio de. Mortalhas: os deuses em ceroulas. Rio de Janeiro:
Livraria
Ed. Leite Ribeiro, 1924.
. Obra reunida. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1980.
MINOIS, Georges. Histria do riso e do escrnio. So Paulo: UNESP, 2003.
MOISS, Massaud. A criao literria. So Paulo: Melhoramentos, 1970.
. Dicionrio de termos literrios. So Paulo, Cultrix, 2002.
MORREALL, John. Taking laughter seriously. New York: State University of
New York Press, 1983.
(ed.). The philosophy of laughter and humor. New York: State
University of New York Press, 1987.
MULKAY, Michael. On humorur: its nature and its place in modern society.
New York: Polity Press, 1988.
184
PAZ, Octavio. Os filhos do barro. So Paulo: Cosac Naify, 2013.
PEIXOTO, Afrnio. Humour. Rio de Janeiro: Jackson, 1944.
PIRANDELLO, Luigi. O humorismo. So Paulo: Experimento, 1996.
POSSENTI, Srio. Humor, lngua e discurso. So Paulo: Contexto, 2010.
PRETA, Stanislaw Ponte. FEBEAP: Primeiro festival de besteira que assola o
pas. So Paulo: Crculo do Livro, [196-].
PROPP, Vladmir. Comicidade e Riso. So Paulo: tica, 1992.
RABAA, Carlos Alberto, BARBOSA, Gustavo. Dicionrio de comunicao.
3. ed. So Paulo: tica, 1998.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
RASKIN, Victor. Semantic mechanisms of humor. Boston: D. Reidel
Publishing, 1985.
Revista de Cultura Vozes. Petrpolis, ano 68, n. 1, jan./fev. de 1974.
ROMERO, Silvio. Histria da Literatura Brasileira. Rio de Janeiro: Jos
Olympio, 1949.
ROTTERDAM, Erasmo de. Elogio da loucura. So Paulo: Martim Claret, 2001.
S, Jorge de. A crnica. SP: tica, 1999.
SALIBA, Elias Thom. A dimenso cmica da vida privada na Repblica. In:
SEVCENKO, Nicolau (org.). Histria da vida privada no Brasil. So
Paulo: Companhia das Letras, 1998. V. 3.
. Razes do riso. So Paulo: Companhia das Letras: 2002.
SANTANNA, Affonso Romano de. Pardia, parfrase e Cia. So Paulo:
tica, 1985.
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de lingustica geral. So Paulo: Cultrix, 2006.
SERAFINI, Breno. Millres dias viro. Porto Alegre: Libretos, 2013.
SCHUTZ, Charles. The cryptic humour of political jokes. Disponvel em:
http://www.ozcomedy.com/journal/21schutz.htm. Acessado em 01 dez.
2001.
SHAKESPEARE, William. Romeo and Juliet. In www-tech.mit.edu/Shakespeare/
SODR, Muniz. A comunicao do grotesco. Petrpolis: Vozes, 1977.
185
SPINA, SEGISMUNDO. Na madrugada das formas poticas. So Paulo: Ateli
Editorial, 2002.
SS, Ernani. Baro de Itarar. Porto Alegre: Tch, 1984.
STAIGER, Emil. Conceitos fundamentais da potica. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1975.
TAVARES, Hnio. Teoria literria. Belo Horizonte: Bernardo lvares, 1966.
TELES, Gilberto Mendona. Cames e a poesia brasileira. Rio de Janeiro:
Imprensa Nacional/Casa da Moeda, 2001.
. Contramargem. Rio de Janeiro: Ed. Puc-Rio; So Paulo: Loyola, 2002.
. Vanguarda europeia e Modernismo brasileiro. (20 ed.) Rio de
Janeiro: Jos Olympio, 2012.
PUC-Rio - Certificao Digital N 1012026/CA
TRANCOSO, Bernardo. www.sonetos.com.br
TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Uma introduo ao estudo do humor na lingstica.
In: D.E.L.T.A., vol. 6, n 1, 1990.
VERISSIMO, Jos. Histria da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Fundao
Biblioteca Nacional, s/d.
Você também pode gostar
- Ficha de Apoio À Aprendizagem de Matemática 7 ClasseDocumento115 páginasFicha de Apoio À Aprendizagem de Matemática 7 ClasseMauricio Marane67% (3)
- Revisar Envio Do Teste - Questionário Unidade II - d194 - ..Documento6 páginasRevisar Envio Do Teste - Questionário Unidade II - d194 - ..gofruAinda não há avaliações
- Costureiro de Maquinas Reta e OverloqueDocumento10 páginasCostureiro de Maquinas Reta e OverloqueCarlaMartinsDeAraujoDiasAinda não há avaliações
- Tese. Os Árabes e Nós. A Presença Árabe Na Literatura BrasileiraDocumento265 páginasTese. Os Árabes e Nós. A Presença Árabe Na Literatura BrasileiraPedro Freitas Neto100% (1)
- Plano de Ação de Tutoria - ProntoDocumento4 páginasPlano de Ação de Tutoria - ProntoNana Pedro Barreto AlvesAinda não há avaliações
- LITERATURA CÚMPLICE: Horizontes Literários e Políticos Na Narrativa de Mario BenedettiDocumento119 páginasLITERATURA CÚMPLICE: Horizontes Literários e Políticos Na Narrativa de Mario BenedettiBrenda Carlos de AndradeAinda não há avaliações
- Anais IV p160 Maria Renata Santos FerreiraDocumento8 páginasAnais IV p160 Maria Renata Santos FerreiraBeth RochaAinda não há avaliações
- LBC EbookDocumento97 páginasLBC Ebookivy428838Ainda não há avaliações
- Apostila 3 - Pré Vestibular Enem - GABARITODocumento30 páginasApostila 3 - Pré Vestibular Enem - GABARITOAline SilvaAinda não há avaliações
- Tese Mariana Thiengo Vers o PDFDocumento226 páginasTese Mariana Thiengo Vers o PDFCaio ZaninAinda não há avaliações
- Renata Lopes - DissertacaoDocumento134 páginasRenata Lopes - DissertacaoFelipe Theodoro TerraniAinda não há avaliações
- Pré-Modernismo PRPDocumento36 páginasPré-Modernismo PRPE. N.Ainda não há avaliações
- (Araujo) Cartas para A Posteridade - Tensões Do Modernismo Brasileiro Na Correspondência de Mário de Andrade (Tese UFMG)Documento204 páginas(Araujo) Cartas para A Posteridade - Tensões Do Modernismo Brasileiro Na Correspondência de Mário de Andrade (Tese UFMG)Andrea CiacchiAinda não há avaliações
- A Ficção da Página: Seleção de Ensaios sobre a Literatura BrasileiraNo EverandA Ficção da Página: Seleção de Ensaios sobre a Literatura BrasileiraAinda não há avaliações
- A Poesia Da Literatura Brasileira Do BarDocumento649 páginasA Poesia Da Literatura Brasileira Do BarRafael Barros100% (3)
- Ppgsa Cavalcanti fcs740 fcs840 Tópicos - Especiais - em - Antropologia Programa 2021 1Documento7 páginasPpgsa Cavalcanti fcs740 fcs840 Tópicos - Especiais - em - Antropologia Programa 2021 1Flávia Cunha da SilvaAinda não há avaliações
- RedaçãoDocumento6 páginasRedaçãospanol JMAinda não há avaliações
- Recurso Humanos Noturno - 220211 - 073912Documento21 páginasRecurso Humanos Noturno - 220211 - 073912ANDERSON SANTOSAinda não há avaliações
- VOD-Exercícios Sobre Arte e Literatura - Conceitos Iniciais-2019Documento6 páginasVOD-Exercícios Sobre Arte e Literatura - Conceitos Iniciais-2019eng civil Paulo Vitor MedeirosAinda não há avaliações
- EpistemologiaDocumento15 páginasEpistemologiaElisa Maranho100% (1)
- Do Sertão à Cidade: Política e a Questão Social em Amando FontesNo EverandDo Sertão à Cidade: Política e a Questão Social em Amando FontesAinda não há avaliações
- Regionalidade Entre A Influencia FrancesDocumento511 páginasRegionalidade Entre A Influencia FrancesMarcus ViniciusAinda não há avaliações
- Heitor Villa-Lobos - Da Antropofagia Às Narrativas de Alejo Carpentier e Mário de AndradeDocumento158 páginasHeitor Villa-Lobos - Da Antropofagia Às Narrativas de Alejo Carpentier e Mário de AndradeVinícius Galant da RosaAinda não há avaliações
- Dissertacao Filipe MenezesDocumento158 páginasDissertacao Filipe MenezesFilipe MenezesAinda não há avaliações
- Poesia Portuguesa e Outros - PDFDocumento662 páginasPoesia Portuguesa e Outros - PDFhugh1979100% (1)
- TCC Gabriel Góes Do AmaralDocumento68 páginasTCC Gabriel Góes Do AmaralGabriel GóesAinda não há avaliações
- Exercícios - ModernismoDocumento2 páginasExercícios - Modernismoflaviosilvamachado100% (1)
- Modernismo - 1 Geração: Língua PortuguesaDocumento25 páginasModernismo - 1 Geração: Língua PortuguesaAna Carla DominguesAinda não há avaliações
- 08 Cap 05Documento85 páginas08 Cap 05Nadam GuerraAinda não há avaliações
- Texto CompletoDocumento173 páginasTexto CompletoRanicleide NunesAinda não há avaliações
- Literatura 1º AnoDocumento11 páginasLiteratura 1º AnoClarence Green0% (1)
- Aula 1. Modernismo - 3 GeraçãoDocumento10 páginasAula 1. Modernismo - 3 GeraçãoNathália SouzaAinda não há avaliações
- 2015 - JoseEduardoRubeDeAlmeida CancãoDocumento232 páginas2015 - JoseEduardoRubeDeAlmeida CancãoViviane CarvalhoAinda não há avaliações
- Literatura ContemporaneaDocumento40 páginasLiteratura ContemporaneaNestor Ferreira da SilvaAinda não há avaliações
- Ensaio - O Direito À Literatura - Antonio CandidoDocumento7 páginasEnsaio - O Direito À Literatura - Antonio CandidoGustavo Geo BianchiniAinda não há avaliações
- Imprensa, Humor e Caricatura: A Questão Dos Esteriótipos CulturaisDocumento11 páginasImprensa, Humor e Caricatura: A Questão Dos Esteriótipos CulturaisLuanna Jales0% (1)
- Dialnet FolhetosDeCordelEAPoesiaPopular 7863558Documento17 páginasDialnet FolhetosDeCordelEAPoesiaPopular 7863558Gabriela LopesAinda não há avaliações
- Modernismo Brasileiro IDocumento37 páginasModernismo Brasileiro IFotos FamiliaresAinda não há avaliações
- 754 394 PBDocumento267 páginas754 394 PBMariana Pereira GuidaAinda não há avaliações
- Modernismo - ProvaDocumento2 páginasModernismo - ProvaAline CruzAinda não há avaliações
- O Humor nas Literaturas de Expressão de Língua InglesaNo EverandO Humor nas Literaturas de Expressão de Língua InglesaAinda não há avaliações
- Leadro Pasini - Subjetividade e Nação Na Poesia de MárioDocumento270 páginasLeadro Pasini - Subjetividade e Nação Na Poesia de MárioJoãoAinda não há avaliações
- Artigo Helena AzevedoDocumento15 páginasArtigo Helena AzevedoFernanda PittaAinda não há avaliações
- Unidade 1Documento35 páginasUnidade 1Gracilene Patrícia Mariz CaixetaAinda não há avaliações
- Programa de Disciplina A Representação Literária Julia 20181Documento4 páginasPrograma de Disciplina A Representação Literária Julia 20181MichelGuimaraesAinda não há avaliações
- Scripta Uniandrade: NiandradeDocumento201 páginasScripta Uniandrade: NiandradeDu OliveiraAinda não há avaliações
- Características Das Escolas LiteráriasDocumento6 páginasCaracterísticas Das Escolas LiteráriasAntonio José AlvesAinda não há avaliações
- Ensaio - Keli Risuenho MoraesDocumento9 páginasEnsaio - Keli Risuenho MoraesKeli RisuenhoAinda não há avaliações
- Sala Do Professor - Portinari o Poeta Da CorDocumento18 páginasSala Do Professor - Portinari o Poeta Da CorAntonio ArrAinda não há avaliações
- Analise Do Discurso - ApostilaDocumento16 páginasAnalise Do Discurso - ApostilaDamião Francisco BoucherAinda não há avaliações
- Literatura Brasileira II 2018Documento138 páginasLiteratura Brasileira II 2018Henrique FagundesAinda não há avaliações
- Os Maias Caderno de RevisaoDocumento13 páginasOs Maias Caderno de RevisaoTiago SantosAinda não há avaliações
- Material Modernismo e Gabarito ProvaDocumento11 páginasMaterial Modernismo e Gabarito Provarafaeusilva86% (14)
- LToledoDocumento124 páginasLToledoJoNobreAinda não há avaliações
- Cms Files 83545 1643046884MS2022 Top 5 Resumos Enem 2022 EbookDocumento22 páginasCms Files 83545 1643046884MS2022 Top 5 Resumos Enem 2022 EbookLisAinda não há avaliações
- Suplemento Pernambuco #197: O QUEBRA-CABEÇA DE UMA LITERATURANo EverandSuplemento Pernambuco #197: O QUEBRA-CABEÇA DE UMA LITERATURAAinda não há avaliações
- 17modernismo Fase II - Poesia - Geração de 30Documento0 página17modernismo Fase II - Poesia - Geração de 30Lorena BritoAinda não há avaliações
- Literatura De Cordel: Um Gênero Discursivo A Serviço Do Ensino Da Língua PortuguesaNo EverandLiteratura De Cordel: Um Gênero Discursivo A Serviço Do Ensino Da Língua PortuguesaAinda não há avaliações
- Literatura Brasileira Linhas de Forca e Tensao o Romance Brasileiro ContemporaneoDocumento3 páginasLiteratura Brasileira Linhas de Forca e Tensao o Romance Brasileiro ContemporaneoPaulo AranhaAinda não há avaliações
- Prosa Marginal e Literatura Underground – A Linguagem de MutarelliNo EverandProsa Marginal e Literatura Underground – A Linguagem de MutarelliAinda não há avaliações
- 2964-Texto Do Artigo-8639-1-10-20140808Documento9 páginas2964-Texto Do Artigo-8639-1-10-20140808Laís Fdez de BulnesAinda não há avaliações
- Romance Social e Romance IntimistaDocumento121 páginasRomance Social e Romance IntimistaFelipe SouzaAinda não há avaliações
- Cantos de CapoeiraDocumento274 páginasCantos de CapoeiraJavier Muñoz Ona-rerê100% (3)
- Trajetória e Análise Sandrino Santoro 2Documento109 páginasTrajetória e Análise Sandrino Santoro 2claudio alvesAinda não há avaliações
- Ernesto Bozzano - Pensamento e VontadeDocumento2 páginasErnesto Bozzano - Pensamento e VontadeLucio Pimenta de Moraes100% (1)
- Isg Fasciculos Educacao Fisica EnemDocumento40 páginasIsg Fasciculos Educacao Fisica EnemWanderson SilvaAinda não há avaliações
- Whatsapp: 073 9 9900 0037: ContatosDocumento1 páginaWhatsapp: 073 9 9900 0037: ContatosAlex NascimentoAinda não há avaliações
- Minha Cidade Tem Historia EdinfantilDocumento16 páginasMinha Cidade Tem Historia EdinfantilSimone Wermelinger100% (1)
- Dimensoes Historico Filosoficas Da Ed. Fisica e Do EsporteDocumento16 páginasDimensoes Historico Filosoficas Da Ed. Fisica e Do EsporteFrancilene ModestoAinda não há avaliações
- Não Sei de Onde Vem Essa Timidez - ArtigoDocumento24 páginasNão Sei de Onde Vem Essa Timidez - ArtigoKarolindaAinda não há avaliações
- Schopenhauer Sobre A Filosofia UniversitariaDocumento9 páginasSchopenhauer Sobre A Filosofia UniversitariaVinícius Ramos PiresAinda não há avaliações
- Estudo 50 - Exortem e Ensinem Uns Aos OutrosDocumento7 páginasEstudo 50 - Exortem e Ensinem Uns Aos Outrosprmarceloasilva100% (1)
- IAB ConcursosDocumento55 páginasIAB ConcursosMarcelo Arioli HeckAinda não há avaliações
- Limite de Uma SucessãoDocumento22 páginasLimite de Uma SucessãoDiana SofiaAinda não há avaliações
- Africanidade e AfrodescendenciaDocumento10 páginasAfricanidade e AfrodescendenciaLuiz LourençoAinda não há avaliações
- Museu, Ensino de História e Sociedade de Consumo. Francisco Regis Lopes RamosDocumento12 páginasMuseu, Ensino de História e Sociedade de Consumo. Francisco Regis Lopes Ramosamanda_teixeira_1Ainda não há avaliações
- TCC Estudo de Viabilidade Minha Casa Minha Vida Faixa 1 - Thomas Edson Sakai CavalcanteDocumento49 páginasTCC Estudo de Viabilidade Minha Casa Minha Vida Faixa 1 - Thomas Edson Sakai CavalcanteThomas Edson Sakai CavalcanteAinda não há avaliações
- Wilson Aleixo AndréDocumento13 páginasWilson Aleixo AndréMauriceia FerrazAinda não há avaliações
- Planificação GEOGRAFIA A - 11º 2021-22Documento9 páginasPlanificação GEOGRAFIA A - 11º 2021-22Alexandre Carvalho MacedoAinda não há avaliações
- Livro - Controle Interno e ExternoDocumento136 páginasLivro - Controle Interno e ExternoLenilson Andres MartinsAinda não há avaliações
- Resenha Memórias Da PlantaçãoDocumento3 páginasResenha Memórias Da PlantaçãoLuciana Novais MacielAinda não há avaliações
- A Família Do MaçomDocumento61 páginasA Família Do MaçomWagner Da CruzAinda não há avaliações
- Frases Com Adjetivos Opostos em Inglês - Pesquisa GoogleDocumento2 páginasFrases Com Adjetivos Opostos em Inglês - Pesquisa Googlestella_cpmAinda não há avaliações
- Ensaio para CheveningDocumento4 páginasEnsaio para CheveningScribdTranslationsAinda não há avaliações
- Manual de Normalizacao UFPR PDFDocumento329 páginasManual de Normalizacao UFPR PDFLuiz GoiabeiraAinda não há avaliações
- Plano de Aula - Língua Portuguesa 6 Ano MaioDocumento2 páginasPlano de Aula - Língua Portuguesa 6 Ano MaioDaniela LourençãoAinda não há avaliações
- Stransky LivroDocumento110 páginasStransky LivroRogerio SatilAinda não há avaliações
- UntitledDocumento601 páginasUntitledBrenno NunesAinda não há avaliações