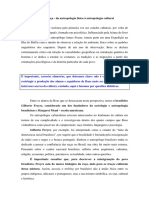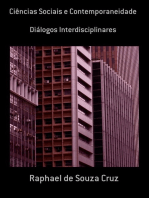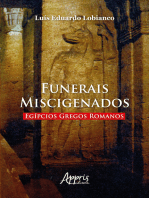Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Franz Boas e A Institucionalização Da Antropologia PDF
Franz Boas e A Institucionalização Da Antropologia PDF
Enviado por
Elisa Cazorla0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
16 visualizações7 páginasTítulo original
FRANZ BOAS E A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ANTROPOLOGIA.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
16 visualizações7 páginasFranz Boas e A Institucionalização Da Antropologia PDF
Franz Boas e A Institucionalização Da Antropologia PDF
Enviado por
Elisa CazorlaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 7
FRANZ BOAS E A INSTITUCIONALIZAO DA ANTROPOLOGIA
NOS ESTADOS UNIDOS
DIOGO DA SILVA ROIZ1
UEMS
RESENHA
BOAS, Franz. A formao da antropologia americana, 1883-1911. Rio de
Janeiro: Contraponto, 2004. 423p.
______. Antropologia cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2010.
109p.
Apesar de ser reconhecido como fundador da moderna pesquisa
etnogrfica nos Estados Unidos e de ter contribudo diretamente para a
institucionalizao do campo da antropologia, entre as disciplinas
ensinadas nas universidades norte-americanas, Franz Boas continua
sendo pouco lido e traduzido no Brasil (FERREIRA, 2009). Para Eriksen e
Nielsen (2007), Franz Boas foi ao lado de Malinowski (com sua
observao participante), Radcliffe-Brown e Mauss, um dos pais
fundadores da moderna pesquisa antropolgica. Para muitos outros
autores, Boas foi o fundador da antropologia norte-americana, isto ,
com ele que se institucionalizaria a etnografia como disciplina nos
cursos de graduao nos Estados Unidos. Ele passou da Fsica, para a
Etnografia e a Antropologia Fsica, e destas para a Antropologia Cultural.
1
Doutorando em Histria pela UFPR, bolsista do CNPq. Mestre em Histria pelo programa de ps-
graduao da UNESP, Campus de Franca. Professor do departamento de Histria da Universidade
Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Campus de Amambai, em afastamento integral para estudos.
E-mail: diogosr@yahoo.com.br .
Espao Amerndio, Porto Alegre, v. 4, n. 2, p. 249-255, jul./dez. 2010.
250
DIOGO DA SILVA ROIZ - Franz Boas e a institucionalizao da antropologia...
Para George W. Stocking Jr., ele contribuiu para a rejeio da ligao
tradicional entre raa e cultura numa nica sequncia hierrquica e na
elaborao do conceito de cultura como uma estrutura relativista,
pluralista, holstica, integrada e historicamente condicionada para o
estudo da determinao do comportamento humano (STOCKING
JNIOR, 2004, p. 36).
Nascido a 9 de julho de 1858, na cidade de Minden, ento parte
da Prssia, no interior de uma famlia judia, cujo pai, Meier Boas, fora
um comerciante de sucesso, e sua me, professora de jardim de
infncia. Cresce sob o impacto da revoluo de 1848, cuja marca estar
presente nas atitudes de seus pais, e possivelmente contriburam para a
formulao de suas ideias pioneiras sobre raa e etnicidade.
Nos anos de 1870, estuda Fsica na universidade de Kiel,
concluindo um doutoramento em 1881, versando sobre uma
Contribuio para o entendimento da cor da gua. Ainda em meados
daquela dcada participa de algumas viagens para o Canad, onde
encontraria grupos nativos de esquims, e em sua convivncia com eles
iniciaria suas indagaes sobre a organizao da cultura. Em 1887,
emigrou para os Estados Unidos, por no conseguir emprego fixo nas
universidades alems, e apenas empregos temporrios em museus, de
onde questionaria a distribuio dos objetos e dos grupos tnicos, em
seu interior. Nos Estados Unidos, casa-se naquele mesmo ano com
Marie. De incio, encontra tambm dificuldades para ingressar em
universidades como docente, e tira seu sustento contribuindo com
artigos para a revista Science. Os nove primeiros anos naquele pas
foram difceis; entre 1888 e 1902 ter tambm seis filhos. Foi apenas no
final da dcada de 1890 que alcanar maior estabilidade de trabalho.
Em 1896, acumular trabalho no museu de histria natural em Nova
York e na Universidade de Columbia. Sair do museu em 1905, em
funo de sua maior estabilidade na Universidade de Columbia, que lhe
permitiu manter dedicao integral. Durante esse perodo, efetuar
outras pesquisas de campo e escrever artigos e livros.
Ser nas primeiras dcadas do sculo XX que aparecero suas
obras mais importantes, como A mente do homem primitivo, em 1911,
e Arte primitiva, em 1927. Em 1940, organizaria Raa, linguagem e
cultura, que reuniria 62 artigos curtos de sua fase madura. Alm de
Espao Amerndio, Porto Alegre, v. 4, n. 2, p. 249-255, jul./dez. 2010.
251
DIOGO DA SILVA ROIZ - Franz Boas e a institucionalizao da antropologia...
participar da fundao de sociedades annimas, como a Associao de
Antropologia Americana, e de revistas na rea, sero marcantes suas
contendas com colegas de rea, no perodo de guerras, quanto s
questes tnicas, culturais, polticas e religiosas. Faleceu em 21 de
dezembro de 1942, na cidade de Nova York, sendo reconhecido como
fundador da moderna pesquisa antropolgica naquele pas.
Com a traduo de A formao da Antropologia americana (de
1983), reunio de 48 artigos produzidos entre 1883 e 1911, por George
W. Stocking Jr., que procura efetuar esforo semelhante obra de 1940,
em 2004, e a seleo, neste mesmo ano, de cinco ensaios (As
limitaes do mtodo comparativo da antropologia, de 1896, Os
mtodos da etnologia, de 1920, Alguns problemas de metodologia nas
cincias sociais, de 1930, Raa e progresso, de 1931, e Os objetivos
da pesquisa antropolgica, de 1932) do livro Raa, linguagem e cultura,
por Celso Castro, pode-se dizer que tem havido maior esforo coletivo
em apresentar e divulgar a obra de Boas no Brasil. Com isso, tem-se
acesso a 53 ensaios curtos produzidos pelo autor entre 1883 e 1932.
At ento, tinha-se um ou outro texto traduzido no interior de curso ou
programa, ou mesmo distribudo em revista especializada, cuja
divulgao permanecia restrita. Mesmo assim, h muito ainda a ser
feito, para que tenhamos um conhecimento mais apurado da obra e do
autor no pas. Os textos em questo avanam ao destacar o modo como
o autor entendeu raa e cultura, evolucionismo, difusionismo, a
pesquisa etnolgica e etnogrfica, quais debates efetuou no perodo e
com quem dialogou. Alm disso, permitem que o leitor observe a
importncia do historicismo e do idealismo alemo, em especial o de
Hegel, para a formao do pensamento de Boas. Para George W.
Stocking Jr.:
[...] o principal impacto de seu trabalho foi crtico, e
sua crtica pode ser vista como um ataque aos
pressupostos tipolgicos e classificatrios
predominantes, fossem as rgidas abstraes das trs
raas europias, ou as rgidas abstraes das lnguas
isolantes, aglutinantes e flexionais, ou as rgidas
abstraes dos estados evolutivos da selvageria,
barbries e civilizao. Em cada rea havia uma
tentativa de mostrar que os critrios alegadamente
diferenciais no marchavam com o mesmo passo, mas
Espao Amerndio, Porto Alegre, v. 4, n. 2, p. 249-255, jul./dez. 2010.
252
DIOGO DA SILVA ROIZ - Franz Boas e a institucionalizao da antropologia...
eram afetados de formas complexas por processos
histricos interativos (STOCKING JNIOR, 2004, p.
31).
Ao lado destas questes, Celso Castro acrescentar que:
Alm disso, Boas tambm critica o mtodo
difusionista. Ao contrrio do evolucionismo, do qual
tambm eram crticos, os autores difusionistas
colocavam todo peso explicativo da questo da
diversidade cultural humana na idia de difuso. Ou
seja, em vez de supor, como os evolucionistas, que a
ocorrncia de elementos culturais semelhantes em
duas regies geograficamente afastadas seria prova da
existncia de um nico e mesmo caminho evolutivo, os
difusionistas pressupunham que deveria ter ocorrido a
difuso de elementos culturais entre esses mesmos
lugares (por comrcio, guerra, viagens, ou quaisquer
outros meios). [...] A concepo boasiana de cultura
tem como fundamento um relativismo de fundo
metodolgico, baseado no reconhecimento de que
cada ser humano v o mundo sob a perspectiva da
cultura em que cresceu em uma expresso que se
tornou famosa, ele disse que estamos acorrentados
aos grilhes da tradio. O antroplogo deveria
procurar sempre relativizar suas prprias noes, fruto
da posio contingente da civilizao ocidental e de
seus valores (CASTRO, 2010, p. 17-18).
Ao fazer isso, o autor tenderia a salientar nesse processo, os
conceitos de: 1 relativismo cultural (todas as culturas tm
fundamentos em comum); 2 cultura (uma adio acidental de
elementos individuais [...] era ao mesmo tempo uma totalidade
espiritual integrada que, de alguma maneira, condicionava a forma de
seus elementos (STOCKING JNIOR, 2004, p. 20)) e culturas (no plural,
dando nfase ao particularismo histrico de cada uma); 3
etnocentrismo (como o eu europeu via o outro nativo de acordo com
sua perspectiva); 4 e semelhana dos efeitos (um objeto no tem
apenas uma funo prtica, mas contem caractersticas histricas e
culturais do grupo que o produz). Mas para efetuar essa formulao
terica teve que dialogar com o: 1 determinismo geogrfico: meio
versus formao cultural, o meio define a cultura do indivduo e do
grupo, segundo Ratzel; 2 determinismo social: fatores sociais versus
conduta humana, os fatores sociais determinam a conduta humana, ex.
Espao Amerndio, Porto Alegre, v. 4, n. 2, p. 249-255, jul./dez. 2010.
253
DIOGO DA SILVA ROIZ - Franz Boas e a institucionalizao da antropologia...
o suicdio, de acordo com mile Durkheim; 3 determinismo cultural:
cor versus progresso tcnico e cultural, a cor da pele influncia o
desenvolvimento fsico, neuronal e tcnico de uma sociedade; 4
determinismo psicolgico: o meio exerce o controle sobre a definio
dos comportamentos individuais, para Burrhus Skinner (1904-1990); 5
evolucionismo: raa versus cultura, Assim como o embrio passa de
formas primrias a formas complexas, as sociedades passam de formas
primitivas a formas complexas e diferenciadas (DORTIER, 2010, p. 196),
conforme Herbert Spencer; 6 e o (hiper)difusionismo: a existncia de
traos culturais similares em sociedades diferentes se explica por sua
difuso a partir de um pequeno nmero de centros culturais
(DORTIER, 2010, p. 139); no hiperdifusionismo cr-se que o centro
difusor seria o Egito antigo, como o fez Grafton Smith (1871-1937).
Nesse sentido, suas principais metas foram: 1 tornar a
antropologia uma cincia institucionalizada com mtodos operacionais;
2 o estudo das culturas, e no o das raas, passa a ser prioritrio
(DORTIER, 2010, p. 49); 3 demonstrar que os grupos humanos tm
aspectos culturais em comum, nos quais as culturas possuem
especificidades histricas e peculiaridades tnicas, que no so
definidas pelo meio, pela raa, pela cor, ou pelas caractersticas fsicas e
biolgicas; 4 e cada cultura definida por um modelo [...] particular,
e podemos identificar influncias recprocas entre modelos vizinhos
(DORTIER, 2010, p. 140).
Em funo de suas contribuies, para a institucionalizao da
antropologia nos Estados Unidos, Boas teve diversos continuadores, ora
concordando, ora discordando de seus apontamentos, em que se
destacam: Edward Sapir (1884-1939), Ruth Benedict (1887-1948),
Margaret Mead (1901-1978), Ralph Linton (1893-1953), Abram
Kardiner (1891-1981), Alfred Kroeber (1876-1960), Robert Lowie
(1886-1957), Clark Wissler (1870-1947), Melville Herskovits (1895-
1963), Gilberto Freyre (1900-1987). De forma muito genrica, eles
enfatizavam que:
1 O mundo est dividido em reas culturais ou
culturas locais que formam sistemas relativamente
fechados e possuem coerncia prpria; 2 Os
culturalistas estabelecem um vnculo entre cultura e
psicologia. A idia central que a cultura e a educao
Espao Amerndio, Porto Alegre, v. 4, n. 2, p. 249-255, jul./dez. 2010.
254
DIOGO DA SILVA ROIZ - Franz Boas e a institucionalizao da antropologia...
de uma sociedade contribuem para forjar determinada
personalidade em um indivduo particular; 3 A
cultura [...] , em ltima anlise, o critrio
determinante de explicao das condutas humanas
(DORTIER, 2010, p. 108).
Evidentemente, a sua obra recebeu diversas crticas, apesar dos
evidentes avanos que trouxe para a pesquisa etnogrfica norte-
americana. Entre as quais, destacam-se:
1 Para os culturalistas [inclusive Boas], uma cultura
representava uma espcie de inconsciente social, ou
seja, um sistema de valores e de crenas no qual os
indivduos esto, sem que disso tenham conscincia,
imersos desde a infncia. [...] [Nos estudos culturais,
com nfase na obra de Geertz] a cultura no um
meio homogneo em que esto imersos
inconscientemente os indivduos, mas um conjunto de
discursos ou textos que se prestam a contnuas
transformaes e reconsideraes (DORTIER, 2010, p.
105);
2 definiria a cultura nativa ainda sob a perspectiva europia, segundo
causas e classificaes, sem com isso ver a cultura do outro de dentro;
3 impregnado pelo romantismo e pelo idealismo hegeliano veria a
cultura de acordo com o esprito universal de uma poca, apesar de
reconhecer suas especificidades e peculiaridades; 4 apesar de sua
crtica a ideia de raa, no se recusa a usar o termo para pensar
determinadas caractersticas fsicas, lingusticas, lgicas e hereditrias;
5 No chegou a elaborar uma teoria geral sobre a cultura e a formao
das culturas, limitando-se a estudos monogrficos de alguns grupos
tnicos (LAPLANTINE, 1988); 6 No conseguiu distinguir a percepo
simultnea e, ao mesmo tempo, diferenciada de um acontecimento
vivido em comum pelo eu, branco/europeu, e o outro,
indgena/negro/nativo (SALHINS, 2004); 7 No se preocupou em
demonstrar seus resultados de pesquisa numa interpretao geral dos
grupos humanos a seus pares (LAPLANTINE, 1988).
Portanto, so evidentes os avanos que a obra de Boas trouxe
para a compreenso da organizao, manuteno e apreenso da
cultura entre os grupos e os indivduos, e sua contribuio para a
institucionalizao da moderna pesquisa antropolgica nos Estados
Espao Amerndio, Porto Alegre, v. 4, n. 2, p. 249-255, jul./dez. 2010.
255
DIOGO DA SILVA ROIZ - Franz Boas e a institucionalizao da antropologia...
Unidos. E com a traduo dessas duas obras no Brasil, h o incio da
correo de uma grave lacuna em nossa bibliografia especializada.
Referncias bibliogrficas
BOAS, Franz. A formao da antropologia americana, 1883-1911. Rio de Janeiro:
Contraponto, 2004.
______. Antropologia cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2010.
CASTRO, Celso. Apresentao. In: BOAS, Franz. Antropologia cultural. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2010. p. 7-23.
DORTIER, Jean-Franois. Dicionrio de Cincias Humanas. So Paulo: Martins
Fontes, 2010.
ERIKSEN, Thomas Hylland, NIELSEN, Finn S. Histria da Antropologia. Petrpolis:
Vozes, 2007.
FERREIRA, Ricardo Alexandre. Antropologia cultural: um itinerrio para futuros
professores de Histria. Guarapuava/PR: Ed. Unicentro, 2009.
LAPLANTINE, Franois. Aprender antropologia. So Paulo: Brasiliense, 1988.
SALHINS, Marshall. Cultura na prtica. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2004.
STOCKING JNIOR, George W. Introduo. In: BOAS, Franz. A formao da
antropologia americana, 1883-1911. Rio de Janeiro: Contraponto, 2004. p. 15-38.
Espao Amerndio, Porto Alegre, v. 4, n. 2, p. 249-255, jul./dez. 2010.
Você também pode gostar
- Ficha 2 - Eriksen - e - Nielsen - Capitulo III e IVDocumento9 páginasFicha 2 - Eriksen - e - Nielsen - Capitulo III e IVInocêncio pascoalAinda não há avaliações
- Resenha Boas Formacao Antropologia AmericanaDocumento7 páginasResenha Boas Formacao Antropologia AmericanaEvander Eloí KroneAinda não há avaliações
- CASTRO, Celso. Cultura e PersonalidadeDocumento5 páginasCASTRO, Celso. Cultura e PersonalidadeRicardo Gadelha100% (1)
- Os Métodos Da Etnologia - FichamentoDocumento5 páginasOs Métodos Da Etnologia - FichamentoMárcia Dias100% (1)
- 411 - Identidade Cultural e Identidade Nacional No Brasil - Maria Isaura Pereira de QueirozDocumento14 páginas411 - Identidade Cultural e Identidade Nacional No Brasil - Maria Isaura Pereira de QueirozRosalete LimaAinda não há avaliações
- Franz BoasFranz BoasDocumento5 páginasFranz BoasFranz BoasTamires ChristineAinda não há avaliações
- Franz Boas e A Escola Americana PDFDocumento18 páginasFranz Boas e A Escola Americana PDF_834222783Ainda não há avaliações
- Franz Boas - Race, Language, and Culture, de 1940Documento5 páginasFranz Boas - Race, Language, and Culture, de 1940Nicole MachadoAinda não há avaliações
- Exame AntropologiaDocumento13 páginasExame AntropologiaStephanie SousaAinda não há avaliações
- Fichamento Boas - Antropologia CulturalDocumento2 páginasFichamento Boas - Antropologia CulturalAndréGuilhermeMoreira0% (1)
- Ficha 2.1.3 Escola CulturalistaDocumento7 páginasFicha 2.1.3 Escola CulturalistaAbujate Amade CasimroAinda não há avaliações
- Resumo As Limitações Do Método Comparativo Da AntropologiaDocumento2 páginasResumo As Limitações Do Método Comparativo Da AntropologiaElesion Do CarmoAinda não há avaliações
- Culturalismo EUADocumento37 páginasCulturalismo EUAleontut50% (2)
- Cultura Um Conceito Antropologico Parte IDocumento3 páginasCultura Um Conceito Antropologico Parte IAnne RodriguesAinda não há avaliações
- Unidade VDocumento22 páginasUnidade VDaniel Chagas FerreiraAinda não há avaliações
- LÉVI-STRAUSS, Claude. "Raça e História."Documento18 páginasLÉVI-STRAUSS, Claude. "Raça e História."Marco TumaAinda não há avaliações
- Revisão Sobre o Conceito de CulturaDocumento16 páginasRevisão Sobre o Conceito de CulturaEumar A. KohlerAinda não há avaliações
- Sociologia Na EducaçãoDocumento3 páginasSociologia Na EducaçãoBrunaaahhhAinda não há avaliações
- Franz BoasDocumento5 páginasFranz BoasCarolinaP.S.Ainda não há avaliações
- 1.2.2 Estudos Sobre Raca - Da Antropologia Fisica A Antropologia CulturalDocumento7 páginas1.2.2 Estudos Sobre Raca - Da Antropologia Fisica A Antropologia CulturalluizrlinsAinda não há avaliações
- Aula CASTRO Celso Cultura e Personalidade RESENHADocumento5 páginasAula CASTRO Celso Cultura e Personalidade RESENHAmarcio.bandimAinda não há avaliações
- Resumo Franz BoasDocumento4 páginasResumo Franz Boasadenauer araujoAinda não há avaliações
- BACELAR - Donald Pierson e Os Brancos e Pretos Na BahiaDocumento15 páginasBACELAR - Donald Pierson e Os Brancos e Pretos Na BahiaWilliane PontesAinda não há avaliações
- ANTROPOLOGIA CULTURAL (Douglas Prado Araujo)Documento6 páginasANTROPOLOGIA CULTURAL (Douglas Prado Araujo)douglaspradomsn100% (3)
- Ensaio Relacao Etnicidade Com ProjetoDocumento5 páginasEnsaio Relacao Etnicidade Com Projetoalberto escobarAinda não há avaliações
- José Carlos Pereira - Educação e Cultura No Pensamento de Franz BoasDocumento18 páginasJosé Carlos Pereira - Educação e Cultura No Pensamento de Franz BoasElbrujo TavaresAinda não há avaliações
- O Método HistóricoDocumento4 páginasO Método HistóricoMerabe SilvaAinda não há avaliações
- Universidade Federal Do Pará Faculdade de Artes Visuais Curso de Bacharelado em Museologia Eloise Borges Castro 202309940031Documento4 páginasUniversidade Federal Do Pará Faculdade de Artes Visuais Curso de Bacharelado em Museologia Eloise Borges Castro 202309940031Luna MayAinda não há avaliações
- Ponencia Dissidentes Da Nação - Pensamento Social e Diásporico de Lelia e Abdias Do NascimentoDocumento10 páginasPonencia Dissidentes Da Nação - Pensamento Social e Diásporico de Lelia e Abdias Do NascimentofernandocpradoAinda não há avaliações
- Czajka - Rodrigo - Livros Da Subversão - Imprensa Comunista e A Coleção Historia Nova Do BrasilDocumento15 páginasCzajka - Rodrigo - Livros Da Subversão - Imprensa Comunista e A Coleção Historia Nova Do BrasilKate KateAinda não há avaliações
- Vídeo Sobre o Antropólogo Franz BoasDocumento5 páginasVídeo Sobre o Antropólogo Franz BoasErick SávioAinda não há avaliações
- 5.DELBEM, D.C. Folclore, Identidade e Cultura PDFDocumento7 páginas5.DELBEM, D.C. Folclore, Identidade e Cultura PDFJorge Alberto Durán OlmosAinda não há avaliações
- Juliana-Roteiro de Leitura - FernandesDocumento7 páginasJuliana-Roteiro de Leitura - FernandesJuh AbreuAinda não há avaliações
- Transição Às AvessasDocumento14 páginasTransição Às Avessasgabrielgandin8Ainda não há avaliações
- História Da AntropologiaDocumento2 páginasHistória Da AntropologiaFrancisco FerreiraAinda não há avaliações
- Miranda, G.M.C Silva, V.A.A Unb Sol Freyre Cunha RelaçõesraciasDocumento16 páginasMiranda, G.M.C Silva, V.A.A Unb Sol Freyre Cunha RelaçõesraciasGustavo MartinsAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido o Conceito de Cultura e Suas Implicações Parte 1Documento2 páginasEstudo Dirigido o Conceito de Cultura e Suas Implicações Parte 1Cláudia AlvesAinda não há avaliações
- Slides Franz Boas - As Limitações Do Método Comparativo Da Antropologia e A Mente Do Ser Humano PrimitivoDocumento10 páginasSlides Franz Boas - As Limitações Do Método Comparativo Da Antropologia e A Mente Do Ser Humano Primitivomargarida botanica100% (1)
- Ensaios de Antropologia BrasilianaDocumento21 páginasEnsaios de Antropologia BrasilianaVanderlei de SouzaAinda não há avaliações
- Os Retratos e A Identidade Brasileira em O CortiçoDocumento24 páginasOs Retratos e A Identidade Brasileira em O CortiçoMelquisedeque da silva romanoAinda não há avaliações
- Antropologia Geral - Tema 2.1Documento8 páginasAntropologia Geral - Tema 2.1Carina MendonçaAinda não há avaliações
- Lara-Arrudaa,+4 +INFLUÊNCIAS+TEÓRICAS+E+TEORIA+EM+GILBERTO+FREYREDocumento37 páginasLara-Arrudaa,+4 +INFLUÊNCIAS+TEÓRICAS+E+TEORIA+EM+GILBERTO+FREYRESTHEPHANIE ANTERO DE ARAUJOAinda não há avaliações
- FLÁVIA RIOS. Movimento Negro Nas Ciências Sociais. 1950-2000Documento12 páginasFLÁVIA RIOS. Movimento Negro Nas Ciências Sociais. 1950-2000Rhavier Pereira100% (1)
- Notas Sobre Franz Boas - ScribdDocumento5 páginasNotas Sobre Franz Boas - ScribdKarol AlvesAinda não há avaliações
- 2 Prova de Antropologia 1 (Refazendo A Primeira)Documento6 páginas2 Prova de Antropologia 1 (Refazendo A Primeira)Graziela MeloAinda não há avaliações
- A R T I G O S: Umbanda: Aquém E Além de OrtizDocumento16 páginasA R T I G O S: Umbanda: Aquém E Além de OrtizPedro LuizAinda não há avaliações
- Herbert BaldusDocumento24 páginasHerbert BaldusPaula Grazielle Viana Dos ReisAinda não há avaliações
- Franz Boas Antropologia CulturalDocumento54 páginasFranz Boas Antropologia CulturalRodrigo Rui Simão de Medeiros100% (1)
- Oliveira, João Pacheco De. Uma Etnologia Dos Índios Misturados Situação Colonial, TerritorializaçDocumento27 páginasOliveira, João Pacheco De. Uma Etnologia Dos Índios Misturados Situação Colonial, Territorializaçcarlos de JesusAinda não há avaliações
- Nina Rodrigues e o Discurso Sobre As Raças Na Formação Da Nação BrasileiraDocumento16 páginasNina Rodrigues e o Discurso Sobre As Raças Na Formação Da Nação BrasileiraFlávia FerreiraAinda não há avaliações
- Cultura, Um Conceito Antropológico.Documento5 páginasCultura, Um Conceito Antropológico.Tassia RiegoAinda não há avaliações
- Um Antropólogo Na Cidade - Resenha 01Documento6 páginasUm Antropólogo Na Cidade - Resenha 01Tabaréu MatoAinda não há avaliações
- A Noção de Uma Cultura Latino-Americana Da Antropologia Norte-Americana E Os Estudos de Família: Uma Conspiração Contra A Diversidade?Documento38 páginasA Noção de Uma Cultura Latino-Americana Da Antropologia Norte-Americana E Os Estudos de Família: Uma Conspiração Contra A Diversidade?Mariana VicenteAinda não há avaliações
- Texto 19 - Stuart Hall e As Questões Etnico RaciaisDocumento30 páginasTexto 19 - Stuart Hall e As Questões Etnico RaciaisAmanda MachadoAinda não há avaliações
- O Espetáculo Das Raças - Lilia Moritz SchwarczDocumento31 páginasO Espetáculo Das Raças - Lilia Moritz SchwarczHenrique G. LimaAinda não há avaliações
- Antropologia Brasiliana Ciência e Educação Na Obra de Edgard Roquette-PintoDocumento5 páginasAntropologia Brasiliana Ciência e Educação Na Obra de Edgard Roquette-PintoPaulo ReisAinda não há avaliações
- As desigualdades sociais a partir do racismo em Jessé Souza: analisando a gênese dos conceitosNo EverandAs desigualdades sociais a partir do racismo em Jessé Souza: analisando a gênese dos conceitosAinda não há avaliações
- Ato Infracional Maria Da PenhaDocumento13 páginasAto Infracional Maria Da PenhaMarcela OliveiraAinda não há avaliações
- Antropologia CorporativaDocumento8 páginasAntropologia CorporativaMarcela OliveiraAinda não há avaliações
- Apostila Aluno Sua Loja Virtual No Topo Do Google v2Documento69 páginasApostila Aluno Sua Loja Virtual No Topo Do Google v2Marcela OliveiraAinda não há avaliações
- 2 - Tema de Pesquisa PDFDocumento2 páginas2 - Tema de Pesquisa PDFMarcela OliveiraAinda não há avaliações
- A Atualidade de T.H. Marshall No Estudo Da Cidadania No BrasilDocumento20 páginasA Atualidade de T.H. Marshall No Estudo Da Cidadania No Brasilrpm123456Ainda não há avaliações
- Consultoria PDFDocumento216 páginasConsultoria PDFMarcela OliveiraAinda não há avaliações
- Da Infancia Sem Valor À Infancia de Direitos PDFDocumento14 páginasDa Infancia Sem Valor À Infancia de Direitos PDFMarcela OliveiraAinda não há avaliações
- Daniel Munduruku - Entre A Cruz e A EspadaDocumento96 páginasDaniel Munduruku - Entre A Cruz e A EspadaMarcela OliveiraAinda não há avaliações