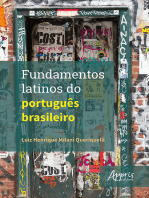Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Nova Gramatica Do Portugues Contempora PDF
A Nova Gramatica Do Portugues Contempora PDF
Enviado por
MaríaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Nova Gramatica Do Portugues Contempora PDF
A Nova Gramatica Do Portugues Contempora PDF
Enviado por
MaríaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Filol. lingst. port., n. 8, p. 11-22, 2006.
A NOVA GRAMTICA DO PORTUGUS
CONTEMPORNEO: TRADIO E MODERNIDADE
Marli Quadros Leite *
RESUMO: A partir da premissa de que a gramtica tradicional , sob o ponto de vista cultural e
histrico, um Instrumento lingstico (Auroux, 1998) importante sociedade, tratamos de anali-
sar A nova gramtica do portugus contemporneo, de Celso Cunha e Lindley Cintra (1985).
Nosso objetivo mostrar que a gramtica tradicional , tambm, um lugar em que ficam
registrados aspectos da histria da lngua, a includos dados da realidade lingstica (hiperln-
gua). O trabalho inscreve-se no quadro da historiografia lingstica e tem a finalidade de exami-
nar um contedo, que, nesse caso, o registro de aspectos da variedade brasileira do portugus
no seio de um instrumento lingstico.
PALAVRAS-CHAVE: Gramtica Tradicional; Hiperlngua; Instrumentos lingsticos; Portugus
do Brasil.
CONSIDERAES INICIAIS
m geral, os lingistas no querem ouvir falar de gram-
E tica tradicional, ou normativa, como se diz comumen-
te. A premissa a de que ela um manual eivado de
idias ultrapassadas e que, alm disso, no representa
a lngua. No discutiremos aqui a pertinncia ou impertinncia des-
sas idias, porm, preciso afirmar que, realmente, nenhuma ln-
gua se reduz a um conjunto de regras prescritivas e que, portanto,
a gramtica, sob esse ponto de vista, no a lngua, nem a lngua
essa gramtica.
*
Universidade de So Paulo.
23
Filologia 7.pmd 23 24/7/2007, 12:25
LEITE, Marli Quadros. A Nova Gramtica do Portugus Contemporneo: tradio e modernidade.
Conforme Leite (2006, p. 33), no obstante toda a discusso
que envolveu (e envolve, ainda hoje) sua natureza, a gramtica sem-
pre foi relevante, do ponto de vista cultural e cientfico, por seu
papel tanto no mbito dos estudos lingsticos quanto no do ensi-
no. Cientificamente, importante porque os historiadores das idias
lingsticas se valem desse instrumento para reconstruir o conheci-
mento lingstico, terico, de pocas passadas. Tambm, de modo
extremamente parcial, na gramtica h uma descrio de aspectos de
uma variedade lingstica, praticada por escritores e poetas, e h cita-
es de usos que se chocam com esse padro de exemplaridade e
constituem os erros que as pessoas cometem na prtica cotidiana
da lngua. Por isso, de certo modo, v-se, na gramtica, alm da
descrio da lngua literria, referncias a aspectos do uso conside-
rado comum, coloquial, familiar, espontneo, em dado tempo e es-
pao.
Auroux (1998, p. 98) explica que La langue est un ensemble de
reprsentations communes aux individus e ns a conhecemos pelas re-
alizaes empricas identificadas como uma hiperlngua, uma realida-
de produzida em um espao-tempo, como o francs, o portugus,
etc.1 Esse conjunto no fechado de uma lngua emprica passvel de
ser gramatizado, isto , de ser descrito e, a partir da descrio, esta-
belecer-se uma base de paradigmas por meio dos instrumentos
lingsticos que so, conforme o autor, a gramtica e o dicionrio.
Esses instrumentos, assim como a escrita, explica Auroux (1992),
so tecnologias desenvolvidas pelas sociedades civilizadas, letradas,
e seu surgimento resultou, historicamente, de duas causas sociais prin-
cipais: 1. a aprendizagem de uma lngua estrangeira; 2. a necessidade
de desenvolvimento de uma poltica de uma lngua dada. Em relao
primeira, a aprendizagem de L2 exige do usurio a aprendizagem
da L1, e a aprendizagem de uma ou outra permite que o falante possa
atender a uma srie de interesses prticos como: i. acesso a uma
lngua de administrao; ii. acesso a um corpus de textos sagrados;
1
Cf. tambm Auroux, 1994.
24
Filologia 7.pmd 24 20/7/2007, 13:12
Filol. lingst. port., n. 8, p. 23-50, 2006.
iii. acesso a uma lngua de cultura; iv. relaes comerciais e polti-
cas; v. viagens (expedies militares, expedies de descobrimen-
to); vi. implantao/exportao de uma doutrina religiosa; vii. colo-
nizao. Em relao segunda, a gramatizao atende necessidade
de: viii. organizar e regular uma lngua literria; ix. desenvolver
uma poltica de expanso lingstica de uso interno ou externo.
(op. cit., p. 47).
A princpio, podemos imaginar que o mundo mudou e que
essas necessidades no correspondem mais s exigncias das socie-
dades modernas. Mas, por incrvel que possa parecer, no geral, a
situao no mudou tanto. A aprendizagem das lnguas estrangei-
ras, evidentemente por motivos muito diferentes daqueles do mun-
do antigo e clssico, apesar do desenvolvimento dos estudos
lingsticos nessa rea, ainda se vale da metalinguagem tradicional
para explicar tanto a L1 como a L2. A poltica de lnguas, tambm
por motivos outros, , cada vez mais, exigncia das sociedades
modernas. Se pensarmos na unificao europia, por exemplo, ve-
remos que o problema lingstico um dos temas de discusso cons-
tante.
Cassin (2004, p. XVII), por exemplo, abre a apresentao que
redige para o Vocabulaire europen des philosophies, com as seguintes
palavras:
Lun des problmes les plus urgents que pose lEurope est celui des langues.
On peut envisager deux types de solution: choisir une langue dominante,
dans laquelle se feront dsormais les changes un anglo-amrican
mondialis; ou bien jouer le maintien de la pluralit, en rendent manifestes
chaque fois le sens et lintrt des diffrences, seule manire de faciliter
rellement la communication entre les langues et les cultures.
Esse exatamente o problema sobre o qual est assentado o
filme cujo ttulo Um filme falado, de Manuel Oliveira. Na histria,
Rosa Maria (Leonor Silveira), uma portuguesa, professora de hist-
ria, leva a filha de sete anos, Maria Joana (Filipa de Almeida), por um
cruzeiro martimo pelo Mediterrneo. medida que o navio vai al-
canando os diferentes lugares, a me vai narrando menina todos
25
Filologia 7.pmd 25 20/7/2007, 13:12
LEITE, Marli Quadros. A Nova Gramtica do Portugus Contemporneo: tradio e modernidade.
os eventos histricos relacionados a cada um deles. Dentro do navio,
sentam-se mesa o capito John, um americano (John Malkovich), e
trs senhoras, celebridades em seus pases: uma italiana (Stefania
Sandrelli), outra grega (Irene Papas) e, a terceira, francesa (Catheri-
ne Deneuve). Cada pessoa fala sua prpria lngua, mas todos se en-
tendem perfeitamente, uma verdadeira comunidade global, no uma
babel. Apenas Rosa (a portuguesa) precisa falar ingls (lngua de
comunicao comum a todos), porque os demais no falam sua ln-
gua. H muito mais sobre esse filme riqussimo de simbologias, mas
para ns interessa aqui essa representao da questo lingstica.
A Europa, sem dvida, est envolvida em um problema que
exigir o desenvolvimento de sria poltica lingstica a ser, ao lon-
go do tempo, definida. Disso se pode inferir, tambm, que ser enor-
me a necessidade de os falantes aprenderem outra(s) lngua(s), o
que faro, evidentemente, a partir do conhecimento que tm, em
maior ou menor escala, da lngua materna. Inevitavelmente, pensa-
mos, a metalinguagem tradicional ser utilizada. A Lingstica, sem
dvida nenhuma, embora muito mais eficiente para dar conta do
funcionamento da lngua e do discurso, no acessvel aos no-
iniciados. Mesmo os professores de lngua tm conhecimentos li-
mitados para aplic-la irrestritamente. O que vemos, por isso, a
mistura de mtodos, alguns oriundos da Lingstica Aplicada, em
conexo com a terminologia tradicional.
Esses exemplos servem apenas para lembrar a importncia
sociocultural da gramtica tradicional. a ela que acorrem os usu-
rios tambm para resolver problemas acerca de alguns usos a se-
rem obedecidos em certas circunstncias, especialmente de lngua
escrita. As gramticas nada mais so, portanto, que artefatos tcni-
cos, instrumentos lingsticos (Auroux, 1992), que servem socieda-
de. Como todo instrumento, cada gramtica pode ser mais ou menos
operacional, mais ou menos prtica, mais ou menos eficiente, mais
ou menos moderna, mais ou menos atualizada.
26
Filologia 7.pmd 26 20/7/2007, 13:12
Filol. lingst. port., n. 8, p. 23-50, 2006.
1. UMA GRAMTICA DESCRITIVA E NORMATIVA
Dentre as gramticas tradicionais brasileiras atuais, duas so
as de maior destaque: a Moderna gramtica portuguesa, de Evanildo
Bechara, publicada em 1999, como 37 edio da gramtica do mes-
mo nome, publicada na dcada de 1961, agora completamente re-
vista e aumentada, e a Nova gramtica do portugus contemporneo,
publicada em 1985, de Celso Cunha e Lyndley Cintra, essa ltima de
alcance amplo dentro da lngua portuguesa. Aqui, examinaremos a
segunda com o intuito de mostrar como a gramtica normativa tem-
se atualizado, se comparada s mais antigas. Primeiro, contudo, fa-
remos um breve comentrio sobre a Moderna gramtica, para reforar
a idia de que os gramticos-lingistas tm tentado aproveitar os
resultados das teorias lingsticas modernas, para renovar a antiga.
Na Moderna gramtica, Bechara agrega fortemente a teoria
lingstica. Como diz, faz uma gramtica descritiva e normativa. Real-
mente, o autor resume e aplica, parcialmente, a teoria funciona-
lista de Eugnio Coseriu, de quem fiel seguidor. Na introduo
(p. 23-55), o autor faz a exposio da teoria; na primeira parte,
trata de fontica descritiva, de fontica expressiva e de ortopia;
na segunda, o assunto a gramtica descritiva e normativa, as unida-
des do enunciado, com as seguintes divises: a. formas e funes;
b. estrutura das unidades: anlise mrfica; c. estrutura do enuncia-
do ou perodo: a orao e a frase. Depois, h um apndice em que
aparecem: 1. figuras de sintaxe; 2. vcios e anomalias de lingua-
gem. Na terceira parte, o autor trata de pontuao; na quarta, de
noes elementares de estilstica; e na quinta e ltima, de noes
elementares de versificao. Uma estrutura da gramtica greco-
romana enxertada de lingstica moderna, como se percebe por
esse esquema.
A tentativa do autor de combinar as duas perspectivas louv-
vel, embora, segundo entendemos, complique a leitura do texto para
o pblico em geral. O mtodo escolhido o de tratar cada parte do
discurso, incorporando o que a lingstica j desmitificou em rela-
o teoria tradicional, mantendo o que desse no foi desconstru-
27
Filologia 7.pmd 27 20/7/2007, 13:12
LEITE, Marli Quadros. A Nova Gramtica do Portugus Contemporneo: tradio e modernidade.
do. Assim, ao tratar de preposio, por exemplo, abre um item
denominado Preposio e sentido, em que diz:
J vimos que tudo na lngua semntico, isto , tudo tem um significado,
que varia conforme o papel lxico ou puramente gramatical que as unidades
lingsticas desempenham nos grupos nominais unitrios e nas oraes. As
preposies no fazem exceo a isto: Ns trabalhamos com ele, e no
contra ele.
H trechos em que o autor trabalha exclusivamente com a teo-
ria lingstica moderna. S para exemplificar, vejamos alguns aspec-
tos do tratamento do verbo:
6 Verbo
Consideraes gerais entende-se por verbo a unidade de significado
categorial que se caracteriza por ser um molde pelo qual organiza no falar
seu significado lexical.
Depois vem uma extensa explicao terica, com base nos
seguintes pontos: a. da distino de verbos nocionais e relacionais;
b. das categorias verbais, segundo Jakobson; c. das noes de tem-
po e aspecto, segundo Coseriu; d. da teoria tradicional. Para tornar
mais prximo o que estamos dizendo, vejamos um trecho da expli-
cao funcional para o tempo e aspecto, para as quais Bechara, se-
guindo Coseriu, descreve uma srie de subcategorias, inerentes ao
verbo nas lnguas romnicas, que so: 1. nvel de tempo; 2. perspectiva
primria; 3. perspectiva secundria; 4. durao; 5. repetio; 6. concluso;
7. resultado; 8. viso (que reproduzimos abaixo); e 9. viso comitativa
(p. 215):
28
Filologia 7.pmd 28 20/7/2007, 13:12
Filol. lingst. port., n. 8, p. 23-50, 2006.
Na viso parcializante, podem-se diferenar diversas possibiblidades:
estar fazendo
vir fazendo ir fazendo
andar fazendo
prosseguir fazendo
Ao
A C B
Explicitando esta viso angular
Pelo esquema, v-se a ao entre dois pontos (A,B); ambos podem coincidir em um
(C), isto , podem ser pontos de comeo e trmino de ao, o que no se expressa na forma
do verbo e deve ser dito complementariamente: estive lendo o dia todo. Explicita-se em
portugus com estar + gerndio (estou fazendo) ou estar a + infinito (estou a fazer).
Viso comitativa Trata-se do acompanhamento da ao verbal em diversos momentos
de seu curso entre A e B, e se expressa em portugus por andar + gerndio (ando fazendo)
ou andar a + infinito (ando a fazer).
A expresso pode ser ainda assinalada com o auxlio do adjetivo e particpio, como
em andar enfermo, andar desesperado.
Depois disso, Bechara passa a usar a metalinguagem tradicio-
nal para as demais categorias (pessoa, tempo, modo, voz) e com-
pletamente tradicional na apresentao das tbuas de conjugao.
Embora a obra seja muitssimo vlida, por renovar o modelo da
gramtica tradicional com contribuies da Lingstica, ainda de-
sigual e, segundo pensamos, no atende suficientemente bem nem
ao lingista nem ao leitor comum. Alm disso, a desigualdade no
se restringe explorao terica. Tambm o exemplrio dspar.
Bechara tanto usa frases forjadas por ele (talvez at a maioria) quan-
to exemplos literrios de escritores portugueses e brasileiros, que
escreveram do sculo XVI ao XX: de Cames a Guimares Rosa.2
louvvel, no obstante os problemas, a coragem de autores, como
Bechara, de tentar renovar a tradio, tarefa sempre difcil e rdua.
Passemos, a seguir, ao exame da obra de Cunha e Cintra.
2
Para outras informaes sobre a Moderna gramtica portuguesa, cf. Leite (2000).
29
Filologia 7.pmd 29 20/7/2007, 13:12
LEITE, Marli Quadros. A Nova Gramtica do Portugus Contemporneo: tradio e modernidade.
2. OS FUNDAMENTOS DA NOVA GRAMTICA DO PORTUGUS
CONTEMPORNEO
A Nova Gramtica do portugus contemporneo (NGPC) foi escrita
em colaborao, por Celso Cunha, brasileiro, professor da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro, e Lus Filipe Lindley Cintra, portu-
gus, da Universidade de Lisboa. Essa , segundo julgamos, uma
obra fundamental no quadro dos instrumentos lingsticos do por-
tugus, por sua proposta inovadora e ousada. Ousada porque uma
gramtica tradicional que se adapta no mbito da lingstica
contrastiva, ou que pelo menos busca encontrar um cdigo
contrastivo da lusofonia. Inovadora porque, pela primeira vez, en-
contram-se no espao da gramtica tradicional, em confronto, as
normas brasileira, portuguesa e africana do idioma.
Mais importante que tratar do plano da obra e de suas carac-
tersticas gerais mostrar como a hiperlngua3 brasileira surge na
gramtica e se diferencia da variedade europia. No obstante isso,
preciso, primeiro, contextualizar um pouco o nosso objeto de es-
tudo. Por isso, passaremos a comentar o objetivo, a metodologia e
as teorias que os autores usaram para compor a obra.
Os autores escreveram um prefcio em que expuseram suas
intenes: apresentar ao pblico uma obra que fosse til ao ensino
da lngua portuguesa em Portugal, no Brasil e nas naes lusfonas
da frica e em todos os pases onde se estuda o Portugus. Partiram
da premissa, portanto, de que h, em todos os lugares em que a ln-
gua falada uma superior unidade, dentro de sua natural diversi-
dade, particularmente do ponto de vista diatpico. Por isso os
autores declaram que estiveram atentos s diferenas devidas ao
uso nacional e regional do idioma, em especial as devidas s dife-
renas entre as variedades europia e americana.
3
Segundo Auroux (1994; 1998), a hiperlngua a lngua produzida em um espao-
tempo, por indivduos dotados de gramticas no necessariamente idnticas, auxilia-
dos por artefatos tcnicos, instrumentos lingsticos, dentre os quais a gramtica e o
dicionrio.
30
Filologia 7.pmd 30 20/7/2007, 13:12
Filol. lingst. port., n. 8, p. 23-50, 2006.
O desenvolvimento da matria apoiado em, alm da tradi-
cional, teorias lingsticas modernas, sem, contudo, haver, no cor-
po do texto, terminologia diferente da tradicional. Dentre essas
teorias, podemos citar a sociolingstica, que suporta o tratamento
das variedades diatpicas e, em certa medida, das variveis diastr-
ticas, pela classificao dos registros (ou falares) coloquiais, fa-
miliares, vulgares, etc.; a estruturalista que, juntamente com a tradi-
cional, organiza o tratamento das partes do discurso; a fontica
acstica e a fonologia estruturalista usadas para o desenvolvimento
do captulo de estudo dos fonemas portugueses.
Alguns captulos iniciais so preparatrios. Os captulos 1 e 2
so de carter sociolingstico e so o espao em que os autores
introduzem conceitos gerais de: linguagem, lngua, discurso, estilo e,
tambm, variao, conservao lingstica, diversidade geogrfica, diale-
tos e falares. No captulo trs, os autores tratam do domnio atual da
lngua portuguesa no mundo, a partir do conceito de unidade e
diversidade.
Depois vm dois captulos, o terceiro e o quarto, que tm algu-
ma solidariedade. O terceiro reservado para os assuntos de fon-
tica e fonologia, e o quarto, para ortografia. Em seguida, seguem-se
trs captulos em que se apresentam, teoricamente, os fundamen-
tos morfossintticos: o quinto trata de classe, estrutura e formao
de palavras; o sexto, de derivao e composio; o stimo, de fra-
se, orao e perodo.
Na seqncia, vm os captulos de 8 a 17, em que so estuda-
das cada classe de palavra: 8. substantivo; 9. artigo; 10. adjetivo; 11.
pronomes; 12. numerais; 13. verbo; 14. advrbio; 15. preposio;
16. conjuno; 17. interjeio. As noes tericas sobre perodo e
sua construo so estudadas parte, no captulo 18. Os autores
reservaram os ltimos captulos para o estudo de figuras de sinta-
xe, no 19; discurso reportado (direto, indireto e indireto livre), no
20; pontuao, no 21; e, finalmente, noes de versificao, no 22.
O captulo 5 reservado para o estudo prvio sobre os con-
ceitos de classe, estrutura e formao das palavras, em que os au-
31
Filologia 7.pmd 31 20/7/2007, 13:12
LEITE, Marli Quadros. A Nova Gramtica do Portugus Contemporneo: tradio e modernidade.
tores introduzem, superficialmente, alguns conceitos estruturalis-
tas que instrumentalizam, ainda que minimamente, o leitor leigo em
lingstica para ler a gramtica.
Os autores, como declaram, embora tivessem trabalhado em
conjunto, delimitaram a redao dos captulos. Cunha redigiu os
captulos 1, 4 e 5 a 22 e Cintra, 2 e 3, alm de ter realizado o trata-
mento contrastivo do captulo 13, verbo. Essa desigualdade expli-
ca-se porque, nessa maioria de captulos, os autores incorporaram
os textos de Cunha, de gramticas anteriores e, sobre eles, fizeram
cortes e acrscimos. O exemplrio completamente novo.
As classes de palavras, assim denominadas na gramtica, so
estudadas morfossintaticamente. O tratamento morfossinttico das
classes uma tomada de posio terico-metodolgica que im-
plica no partir, separadamente, da definio da classe e do acrs-
cimo de suas propriedades morfolgicas e tratamento sinttico.
Na NGPC, o ponto de vista estruturalista organiza os captulos e,
metodologicamente, cada classe tratada por meio dos trs crit-
rios formal, funcional e semntico, na ordem que cada classe exigir.
Assim, por exemplo, para o verbo, o primeiro critrio o formal e o
segundo o funcional; o semntico, a, no aparece isoladamente,
mas inserido, amalgamado na explorao do funcional, na explicao
da funo de cada categoria (tempo, modo, aspecto). J para a pre-
posio, o primeiro critrio o funcional, embora os autores apre-
sentem o formal e o semntico, para o qual desenvolvem significativo
estudo, o que no era comum em gramticas tradicionais. Para os
pronomes, os trs critrios so combinados, com nfase para o
funcional.
O objeto de estudo est inscrito no ttulo da gramtica, o
portugus contemporneo, escrito, na sua forma culta, tomado
desde o Romantismo, colhido em textos de escritores portugueses,
brasileiros e africanos. Embora o foco seja a lngua escrita, h al-
guns comentrios marginais sobre usos da lngua falada (linguagem
coloquial, familiar, vulgar), quando relevante tratar de valores
afetivos e formas idiomticas e outros. Outras expresses, como
32
Filologia 7.pmd 32 20/7/2007, 13:12
Filol. lingst. port., n. 8, p. 23-50, 2006.
portugus normal e lngua corrente, em referncia lngua falada no
tm, em geral, carter depreciativo.
O objetivo dos autores descrever o portugus contempor-
neo, considerando-se, principalmente, as normas admitidas como
padro em Portugal e no Brasil. Para dar conta de tarefa to difcil,
os autores deixam explcitas as suas posies a respeito dos princi-
pais temas sobre os quais operam. Assim, dizem entender que a
lngua um
sistema gramatical pertencente a um grupo de indivduos. (...) uma lngua
histrica no um sistema lingstico unitrio, mas um conjunto de siste-
mas lingsticos, isto , um DIASISTEMA, no qual se inter-relacionam diver-
sos sistemas e sub-sistemas. (...) uma lngua apresenta trs tipos de
diferenas internas, que podem ser mais ou menos profundas: 1) diferen-
as no espao geogrfico, ou VARIAES DIATPICAS (falares locais, vari-
antes regionais e, at, intercontinentais); 2) diferenas entre as camadas
socioculturais, ou VARIAES DIASTRTICAS (nvel culto, lngua padro,
nvel popular, etc.); 3) diferenas entre os tipos de modalidade expressiva,
ou VARIAES DIAFSICAS (lngua falada, lngua escrita, lngua literria,
linguagens especiais, linguagem dos homens, linguagem das mulheres,
etc.). (p. 1-3)
Sobre a variao lingstica, dizem que inerente ao sistema da
lngua e ocorre em todos os nveis: fontico, fonolgico, morfolgi-
co e sinttico (p. 3). Tratar dos problemas de variao e norma dentro
de uma das variedades do portugus j tarefa difcil e muito mais
faz-lo para trs variedades continentais. Por isso, os autores tiveram
de formular um conceito amplo, mas ao mesmo tempo firme, para
cobrir o objetivo de uma gramtica tradicional. Sobre norma e pa-
dro, ento, disseram:
Todas as variedades lingsticas so estruturadas e correspondem a siste-
mas e subsistemas adequados s necessidades dos seus usurios. Mas o
fato de estar a lngua fortemente ligada estrutura social e aos sistemas de
valores da sociedade conduz a uma avaliao distinta das caractersticas das
suas diversas modalidades diatpicas, diastrticas e diafsicas. A lngua
padro, por exemplo, embora seja uma entre as muitas variedades de um
idioma, sempre a mais prestigiosa, porque atua como modelo, como
norma, como ideal lingstico de uma comunidade. Do valor normativo
decorre a sua funo coercitiva sobre as outras variedades, com o que se
torna uma pondervel fora contrria variao. (p. 3)
33
Filologia 7.pmd 33 20/7/2007, 13:12
LEITE, Marli Quadros. A Nova Gramtica do Portugus Contemporneo: tradio e modernidade.
Nesse quadro, Cunha e Cintra conseguiram inserir o conceito
de norma padro, deixando para cada sociedade, no caso a euro-
pia, a brasileira e a africana, a depender de sua ideologia, a liber-
dade de escolha na operao com as suas variedades. Isso quer dizer
da possibilidade de maior ou menor aceitao, internamente em
cada nao, das variaes regionais e sociais da lngua. Outros au-
tores prevem, contudo, que a variedade que se apresenta como
padro seja, igualmente, a mais prestigiada, a que impera dentre as
demais e a que, enfim, mantm a unidade lingstica entre as trs
variedades.
No caso da NGPC, no h espao para dizer que os autores
entendem a lngua como uma entidade monoltica, como, em geral,
ocorre para outros gramticos e em outras gramticas. Primeiro, a
prpria considerao da diversidade das variedades anula essa hip-
tese, depois, no corpo da gramtica, como procuraremos mostrar,
h consideraes, no que diz respeito variedade brasileira, de pos-
sibilidades lingsticas no previstas na tradio gramatical. Nem sem-
pre nesses casos h restries quanto correo. Esse, inclusive,
um conceito-chave para os autores, que disseram sobre o assunto:
justamente para chegarem a um conceito mais preciso de correo em
cada idioma que os lingistas atuais vm tentando estabelecer mtodos
que possibilitem a descrio minuciosa de suas variedades cultas, seja na
forma falada, seja na escrita. Sem investigaes pacientes, sem mtodos
descritivos aperfeioados nunca alcanaremos determinar o que, no dom-
nio de nossa lngua ou de uma rea dela, de emprego obrigatrio, o que
facultativo, o que aceitvel, o que grosseiro, o que inadmissvel; ou,
em termos radicais, o que e o que no correto. (p. 8)
Trabalharemos aqui exatamente nesse espao de abertura da
tradio, a fim de recuperar a hiperlngua brasileira no corpo do
texto gramatical e examinar como ela est considerada: com traos
restritivos, desmarcada, avalizada como uso padro de mesmo va-
lor da tradio.
Como o assunto extenso, procederemos aqui a um recorte
e examinaremos o problema em um captulo da gramtica: o dos
pronomes.
34
Filologia 7.pmd 34 20/7/2007, 13:12
Filol. lingst. port., n. 8, p. 23-50, 2006.
3. A PRESENA DA HIPERLNGUA BRASILEIRA NA NGPC
Trabalhar com a hiperlngua, conceito cunhado por Auroux
(1997), significa verificar a diferena. No caso, a observao dessa
questo na gramtica tradicional relevante porque esse um ins-
trumento voltado para a igualdade, no para a diferena, e, portan-
to, todos os registros da lngua emprica que a aparecem so por
demais freqentes e significativos. Se o gramtico os registrou, tm
alta freqncia na lngua, incomodam, fazem-se notar.
A dificuldade de compatibilizar a diferena dentro da igual-
dade extremamente grande. Embora a lngua seja a mesma, no
caso das variedades aqui referidas, o discurso outro, o espao
enunciativo outro, o que repercute na lngua de modo extrema-
mente complexo. Talvez por isso, ao longo desses 180 anos de de-
senvolvimento do pensamento crtico tenha sido to difcil inter-
pretar o portugus do Brasil.4 A busca da diferena progride, mas
esbarra na idia da unidade. A defesa inflexvel da unidade, porm,
impossvel de ser sustentada, porque a lngua heterognea por
natureza. E nesse ponto o paradoxo se estabelece.
Ao longo do tempo, lingistas e gramticos revezaram-se na
defesa da tese da unidade ou da diversidade da lngua do Brasil. Em
1950, Serafim da Silva Neto props a tese da unidade na diversidade,
mas, para ele, a unidade representava apenas o padro culto, escrito
e falado, que, supostamente, existia entre as variedades americana
e europia. A diversidade era representada pelo falar do vulgo ig-
norante. Outros lingistas incorporaram essa tese, at quando Cu-
nha, desde a dcada de 1960 (1976, 1977) desmantelou esse mito da
unidade e afirmou que a diversidade inerente lngua, e que se
manifesta em todas as variedades (culta, comum, popular) e regis-
tros (formais e informais). Disso resulta a existncia da unidade na
diversidade e da diversidade na unidade.
4
Isso se tomarmos como ponto de partida da formao do pensamento crtico sobre o
portugus do Brasil o ano de 1825-26, quando o Visconde de Pedra Branca publicou o
verbete Brasileirismos no Atlas ethnographique du globe, de Adrien Balbi.
35
Filologia 7.pmd 35 20/7/2007, 13:12
LEITE, Marli Quadros. A Nova Gramtica do Portugus Contemporneo: tradio e modernidade.
Houaiss (1985), um dos defensores da unidade sistmica en-
tre as variedades europia, americana e africana do portugus, ten-
tou explicar o paradoxo, afirmando que h estudiosos que,
defensores da existncia de diferenas incomensurveis entre as
duas variedades, entendem ser legtimo postular uma lngua brasi-
leira,5 diferente da portuguesa, por centrarem sua ateno na di-
versidade e esquecerem de considerar a unidade que , segundo
pensa, muito mais representativa. A questo difcil para todos por-
que o portugus do Brasil , sem dvida, diferente do de Portugal,
mas, ao mesmo tempo que parece outro, parece o mesmo.
Biderman (2001), tambm, inquieta com o problema, impor-
tante a seus estudos para a elaborao de dicionrios portugueses,
fez detida pesquisa e chegou seguinte concluso:
Fiz estudo detalhado dos resultados da pesquisa feita pela Universidade de
Lisboa sobre a lngua falada para identificar o Portugus Fundamental (PF).
Examinei os dados do PF, os arquivos dos inquritos e conclu que, quanto
ao lxico, no so muito grandes e sensveis os contrastes com a lngua
falada no Brasil, nvel de linguagem onde poderamos esperar maiores dis-
crepncias. De fato, o ncleo central do PB identifica-se em grande parte
com o PE.
Esse depoimento importante por dois motivos: primeiro,
porque resultado de uma comparao em que esteve envolvida a
modalidade falada das duas variedades em que, em tese, a variao
deveria ser representativa; segundo, porque se trata do lxico, n-
vel da lngua em que as divergncias entre o PB e o PE sempre fo-
ram salientes e, por isso, apontadas. E esse nvel , realmente, o
mais propcio diversidade.
Em linha terico-metodolgica bem diferente da de Bidermam,
posiciona-se Orlandi, por isso, procuramos ouvi-la. Orlandi (1998,
2001) busca caracterizar historicamente, discursivamente, a hiperln-
5
A defesa da lngua brasileira tem representaes histricas diferentes. Desde o
sculo XIX, 1865, Jos de Alencar e Macedo Soares, por exemplo, seguidos de muitos
outros, falam disso por razes diversas. Como esse no assunto que interessa no
momento, deixaremos a questo margem.
36
Filologia 7.pmd 36 20/7/2007, 13:14
Filol. lingst. port., n. 8, p. 23-50, 2006.
gua brasileira. Para isso, coordenou, juntamente com Barros (2000-
2004), o Projeto Histria das Idias Lingsticas (HIL), que ofereceu co-
munidade expressivos resultados de pesquisa sobre: polticas
lingsticas no Brasil; instrumentos lingsticos portugueses e brasi-
leiros e documentos lingsticos. Sobre o fato da diferena, a conclu-
so de Orlandi a de que, do ponto de vista discursivo, falamos a
lngua brasileira, porque temos outra histria, diferente da portugue-
sa, formada por outros discursos, e, do ponto de vista propriamente
lingstico, porque, segundo a autora, embora a lngua parea a mes-
ma, outra. Apesar de a autora no reconhecer a identidade sistmica
entre as duas variedades, ela existe, e o que fica claro em seu texto
e discurso. Isso o que podemos verificar nas seguintes passagens:
No caso do portugus, podemos dizer, ento, so distintos sistemas simb-
licos (o do Brasil e o de Portugal) com distintas histrias (lingsticas), mas
aparentando a mesma materialidade emprica. Da os equvocos. A obser-
vncia da (mesma) materialidade emprica no deixa ver (desconhece) a
distinta materialidade histrica. (2001, p. 24) (Grifamos)
Nessa perspectiva, ento, falamos decididamente a lngua brasileira, pois
isto que atesta a materialidade lingstico-histrica. Se, empiricamente, po-
demos dizer que as diferenas so algumas, de sotaque, de contornos
sintticos, de uma lista lexical, no entanto, do ponto de vista discursivo, no
modo como a lngua historiciza, as diferenas so incomensurveis: falamos
diferente, produzimos diferentes discursividades. (2005, p. 30) (Grifamos)
Em sntese, fica claro que a diferena marcante, ou marcada,
reside no campo discursivo e mais um problema de poltica lin-
gstica de que de lngua propriamente dito. Nesse campo, no h
como negar falarmos a lngua portuguesa.
Invertendo o problema somente para exerccio de raciocnio,
perguntamos: se D. Pedro tivesse, em 1823, quando outorgou a
Constituio, decidido pela denominao lngua brasileira, em vez
de lngua portuguesa, os brasileiros no se perguntariam, j que a
lngua a mesma, se no teria havido uma discriminao? Afinal,
todos os demais pases americanos que tm, como ns, lngua trans-
plantada, tm-na com a mesma denominao europia...
37
Filologia 7.pmd 37 20/7/2007, 13:14
LEITE, Marli Quadros. A Nova Gramtica do Portugus Contemporneo: tradio e modernidade.
Isto posto, procuraremos mostrar alguns casos de considera-
o dessa diferena lingstica, e tambm discursiva, na NGPC. Par-
tiremos da verificao do captulo dos pronomes porque, histori-
camente, nesse ponto reside o calcanhar de Aquiles do contraste
entre o PB e o PE: a colocao pronominal e o uso do ele como acu-
sativo.
3.1 A colocao dos pronomes na NGPC
No captulo 11, os autores estudam os pronomes. Primeiro,
vejamos a composio geral do texto. O desenvolvimento da ma-
tria d-se pela terminologia e teoria tradicionais e, embora dois
estudos estruturalistas sejam evocados, a maior parte dos autores
citados composta de gramticos e fillogos.6 A maioria dos exem-
plos citados, todos literrios, provm de autores brasileiros, dos
dois sculos, XIX e XX. Dentre esses, o mais citado Machado de
Assis. O conjunto de autores do sculo XX, porm, expressivo e
supera (se somados os totais) a marca dos do sculo XIX. Como o
trunfo dos autores o estudo das variedades continentais, e a com-
provao das regras formuladas para cada caso a citao de exem-
plos das trs naes, procuramos levantar dados que revelassem
a paridade, ou no, entre as citaes. O grfico seguinte repre-
senta a situao da distribuio das citaes de autores de cada
variedade:
6
Cintra, Lus Filipe Lindley. Sobre as formas de tratamento na lngua portuguesa. Lis-
boa: Horizonte, 1972; Camara, J. Mattoso. Ele como acusativo no portugus do Brasil.
In: Dispersos. Rio de Janeiro: FGV, 1972; Dias, Epifnio. Syntaxe historica portuguesa. 2.
ed. Lisboa: Clssica, 1933; Huber, Joseph. Altportugiesisches elementarburch. Heidelberg,
Carl Winter, 1933; Silveira, Sousa. Trechos seletos. 4. ed. So Paulo: Nacional, 1938;
Barreto, Mrio. Novssimos estudos da lngua portuguesa. 2. ed. rev. Rio de Janeiro:
Francisco Alves, 1924; Aguiar, Martinz. Notas de portugus de Filinto a Odorico. Rio de
Janeiro: Simes, 1955; Oliveira, Maria Manuela Moreno de. Processos de intensificao
no portugus contemporneo. Lisboa: Centro de Estudos Filolgicos, 1962; Lopes Neto,
Simes. Contos gauchescos. Edio de Aurlio Buarque de Holanda. 5. ed. Porto Ale-
gre, Globo, 1957.
38
Filologia 7.pmd 38 20/7/2007, 13:14
Filol. lingst. port., n. 8, p. 23-50, 2006.
70
60
50
40 BR
30 PT
20 AF
10
0
Escritores
Os escritores africanos no so igualmente citados, nem nes-
se nem em outros captulos. Tambm, a insero da variedade afri-
cana rara.7 A citao de autores portugueses e brasileiros
equilibrada em todos os captulos, s vezes com predominncia dos
brasileiros, como nesse caso, e, outras, dos portugueses.
Os pronomes so especialmente importantes na lngua porque
a categoria pela qual o sujeito se enuncia, dirige-se segunda pes-
soa do discurso e refere-se terceira, que no faz parte imediata da
cadeia discursiva. o espao gramatical da categoria discursiva de
pessoa. Tem toda pertinncia, ento, verificar como, ou se, a gram-
tica tradicional de que ora nos ocupamos abre espao e respeita nes-
se mbito a maneira de o brasileiro dizer-se e de referir-se ao
outro.
Nosso objetivo no o de examinar a conceituao da cate-
goria de pronomes, mas, apenas, investigar a presena do jeito
brasileiro de falar, a hiperlngua, para verificar em que nvel a NGPC
o incorpora, ou no. Mas, para comentar os fatos, teremos de nos
reportar um pouco s conceituaes.
Os autores, depois de explorar a funo dos pronomes na
frase, avanam sobre o lado semntico. Dentro da terminologia tra-
7
Nesse captulo h uma referncia a essa variedade, como veremos mais adiante.
39
Filologia 7.pmd 39 20/7/2007, 13:14
LEITE, Marli Quadros. A Nova Gramtica do Portugus Contemporneo: tradio e modernidade.
dicional, trabalham o tema sob o ponto de vista estruturalista-dis-
cursivo (Benveniste).8 Por isso, desapareceu a correspondncia sin-
gular/plural das trs formas pessoais retas. As caractersticas dos
pronomes apresentadas so discursivas, assim descritas por deno-
tarem as trs pessoas do discurso e por indicarem: quem fala = 1
pessoa do singular (eu) e 1 pessoa do plural (ns); com quem se fala
= 2 pessoa do singular (tu) e 2 pessoa do plural (vs); de quem se
fala = 3 pessoa do singular (ele) e 3 pessoa do plural (eles). Alm
disso, a faculdade textual anafrica dos pronomes tambm des-
crita: por poderem representar, quando na 3 pessoa, uma forma
nominal anteriormente expressa.. Os autores registram, ainda, uma
terceira caracterstica: a variao de forma que o pronome sofre, a
depender da funo que exerce na frase e da acentuao que nela
recebe. H, ainda, uma observao sobre o fato de os pronomes de
tratamento tambm representarem as pessoas. Esses so os pontos
que implicam as diferenas de uso nas trs modalidades.
O primeiro registro, por ordem de apresentao do assunto,
aparece no item equvocos e incorrees e diz respeito ao uso
do ele como objeto.9 Dizem os autores:
4. Na fala vulgar e familiar do Brasil muito freqente o uso do pronome
ele(s), ela(s) como objeto direto em frases do tipo:
Vi ele. Encontrei ela.
Embora essa construo tenha razes antigas no idioma, pois se documenta
em escritores portugueses dos sculos XII e XIV, deve ser hoje evitada.
(O itlico nosso) (p. 281)
Essa descrio bem tradicional e, tambm, contraditria. A
qualificao do uso em tom marcadamente depreciativo, vulgar, est
aliado ao outro adjetivo que, no necessariamente, tem essa marca,
familiar, pois nem tudo que familiar vulgar e nem tudo o que
8
Esse tratamento do assunto j constava da Gramtica do portugus contemporneo, de
1972.
9
Subcaptulo existente na Gramtica contempornea (1971).
40
Filologia 7.pmd 40 20/7/2007, 13:14
Filol. lingst. port., n. 8, p. 23-50, 2006.
vulgar familiar. Alm disso, o significado da palavra, registrado
em dicionrios, no tem esse tom. Vejamos a acepo que lhe d
Houaiss, no sentido lingstico, e veremos que no h marca nega-
tiva:
Rubrica: lingstica: que se d na situao de maior informalidade, em casa
e na presena dos familiares mais prximos, onde a preocupao com a
correo e o julgamento alheio mnima, e com uso freqente de formas
expressivas [aumentativos, diminutivos, hipocorsticos, grias etc.] (diz-se
de variante lingstica, palavra, estilo, linguagem, construo etc.)
Tambm, a recomendao expressa na locuo deve ser evi-
tada combina com o contexto geral de gramtica tradicional, mas
no com a proposta dos autores de registrar variedades. Essa ,
pois, uma incoerncia da gramtica.
A descrio das formas de tratamento tu e voc, o senhor e a
senhora registra suas diferenas de uso, em Portugal e no Brasil, sem
recomendaes de certo/errado. O tu, em Portugal como forma de
intimidade. O voc, no Brasil, como forma de intimidade, com a ob-
servao que em certas regies, como a Sul e alguns pontos da Nor-
te, pratica-se o tuteamento, embora, como afirmam, isso no esteja
bem delimitado. Os autores tambm registram que o voc possvel
de ser empregado no Brasil numa situao discursiva assimtrica em
que o inferior fala com o superior, tratando-o por voc, o que embora
tenha alguma prtica, recente, em Portugal no ainda aceito. As
formas o senhor / a senhora e a senhorita (Brasil) / a menina (Portugal)
tm, aqui e l, o mesmo valor: so formas de respeito e cortesia. Os
autores diferenciam os casos de uso, no Brasil e em Portugal, das
formas o senhor / a senhora acompanhados do nome do cargo e, tam-
bm, do nome prprio do designado (o senhor doutor Fulano de
tal), sobre isso dizem que no Brasil essas so formas inusitadas e,
ainda, que somente nos casos de patentes e altos cargos o ttulo apa-
rece (O tenente Riobaldo, o Presidente Macunama)
O ttulo Dom no tem emprego nem em Portugal nem no Bra-
sil, embora o feminino seja correntemente empregado para senho-
ras de qualquer classe social. Mas os autores fazem uma observao
41
Filologia 7.pmd 41 20/7/2007, 13:16
LEITE, Marli Quadros. A Nova Gramtica do Portugus Contemporneo: tradio e modernidade.
de rodap sobre o fato de, em Portugal, esse tratamento ser omiti-
do, ainda, por vezes, com nomes de senhoras de classes sociais mais
humildes.
Tambm como observaes, os autores tratam de certas fun-
es sintticas das formas voc e o,a senhor(a): 1. voc/ o senhor so
empregadas normalmente nas funes de sujeito e agente da passi-
va; 2. voc (no Brasil) e senhor (Portugal e Brasil) exercem tambm
as funes de objeto (direto e indireto), substituindo com freqn-
cia as formas tonas o, a e lhe; 3. a palavra senhor, no Brasil e em
Portugal, quando anteposta a um nome prprio assume a forma seu.
Importante registrar que os autores trazem para o corpo da
gramtica (no em forma de observao) o fato do uso de a gente
em substituio ao pronome ns. Assim, dizem:10
FRMULAS DE REPRESENTAO DA 1 PESSOA
No colquio normal emprega-se a gente por ns, e, tambm, por eu: (p. 288)
Houve um momento entre ns
Em que a gente no falou. (F. Pessoa, QGP, n 270)
No culpes mais o Barbaas, compadre! A gente s queria gastar um bocadito
de dinheiro. (F. Namora, TJ, 165.)
Voc no calcula o que a gente ser perseguida pelos homens. Todos me
olham como se quisessem devorar-me. (C. dos Anjos, DR, 41)
Nesse caso, pela expresso no colquio normal os autores assu-
mem que na lngua corrente, no Brasil e em Portugal,11 j que no h
restrio, a forma a gente j faz parte da norma da lngua falada em
qualquer registro, est gramatizada. A expresso colquio normal
10
Esse mesmo texto encontra-se na Gramtica portuguesa (1971), o autor trocou as
expresses na lngua coloquial de edio anterior por no colquio normal dessa
que examinamos. Os exemplos so outros.
11
Observe-se que os gramticos citaram dois autores portugueses e um brasileiro.
42
Filologia 7.pmd 42 20/7/2007, 13:16
Filol. lingst. port., n. 8, p. 23-50, 2006.
vaga, mas, por comparao e contraste com outras expresses em-
pregadas na gramtica, quando os gramticos so mais restritivos
(linguagem familiar, vulgar), pode-se compreender que nesse caso a
referncia seja para registros cultos, conversas entre amigos, pales-
tras, conferncias, debates, entrevistas, etc.
Sobre o emprego das formas tnicas dos pronomes, os au-
tores registram o uso to conhecido no Brasil em que o pronome
oblquo se coloca na funo de sujeito de um verbo na forma infinitiva.
Dizem:
Observao:12
Do cruzamento das duas construes perfeitamente corretas:
Isto no trabalho para eu fazer
Isto no trabalho para mim,
surgiu uma terceira:
Isto no trabalho para mim fazer,
em que o sujeito do verbo no infinitivo assume a forma oblqua.
A construo parece desconhecida em Portugal, mas no Brasil ela muito
generalizada na lngua familiar, apesar do sistemtico combate que lhe
movem os gramticos e os professores do idioma. (p. 290) (Sublinhamos)
O registro desse uso, que aparece como uma observao ao
emprego dos pronomes oblquos, importante como anotao de
um fato de lngua, j que os autores reconhecem a adoo do uso
na sociedade brasileira, embora seja, ainda uma forma marcada pela
restrio linguagem familiar que, como comentamos, tem menor
abrangncia que colquio normal e, por isso, no admitida em
gneros de carter pblico, prprios da norma culta. Para apresen-
12
Nesse caso, o texto da Gramtica portuguesa (1971) foi completamente alterado. O que
mostra a mudana de atitude do autor (Celso Cunha e com a concordncia de Lindley
Cintra). No texto de 1971, o autor dizia: Compre evitar-se uma incorreo muito
generalizada, que consiste em dar forma oblqua ao sujeito do verbo infinitivo.
43
Filologia 7.pmd 43 20/7/2007, 13:16
LEITE, Marli Quadros. A Nova Gramtica do Portugus Contemporneo: tradio e modernidade.
tarem a restrio ao uso, Cunha e Cintra preferem utilizar uma es-
tratgia discursiva, a embreagem, que os afasta da responsabilidade
da negao do emprego, quando dizem apesar do sistemtico com-
bate que lhe movem os gramticos e os professores de lngua, o
que parece menos agressivo que o no se deve usar, estratgia
que, ainda, os isenta da proibio direta do uso, mas o pressuposto
da proibio proibio em gneros discursivos em que se exige a
prtica da norma culta claro. Quanto combinao e contrao
dos pronomes tonos, os autores negam, de certo modo, o uso
comum de algumas formas no Brasil:
Observaes:
1. As combinaes lho, lha (equivalentes a lhes + o, lhes + a) e lhos, lhas
equivalentes a lhes + os, lhes + as) encontram sua explicao no fato de
que na lngua antiga a forma lhe (sem o s) ser empregada tanto para o
singular como para o plural. Originariamente eram, pois, contraes em
tudo normais.
2. no Brasil, quase no se usam as combinaes mo, to, no-lo, vo-lo, etc. Da
lngua corrente esto de todo banidas e, mesmo na linguagem literria, s
aparecem geralmente em escritores um tanto artificiais. (p. 300) (Grifo do
autor)
Mesmo assim, a negao titubeante, no quase, depois na
afirmao de que no se realizam tais combinaes na linguagem
corrente e literria.
De maior importncia nesse captulo o fato de os autores
reservarem um subcaptulo, com o mesmo status dos demais, para a
colocao dos pronomes tonos no Brasil. Pelo que fica entendido,
a colocao brasileira, finalmente, est, tambm pela gramtica, re-
gulamentada. Vejamos o texto na ntegra:
A COLOCAO DOS PRONOMES TONOS NO BRASIL
A colocao dos pronomes tonos no Brasil, principalmente no colquio normal,
difere da atual colocao portuguesa e encontra, em alguns casos, similar na lngua
medieval e clssica.
44
Filologia 7.pmd 44 20/7/2007, 13:16
Filol. lingst. port., n. 8, p. 23-50, 2006.
Podem-se considerar como caractersticas do portugus do Brasil e, tambm,
do portugus falado nas Repblicas africanas:
a) a possibilidade de iniciarem frases com tais pronomes, especialmente com a
forma me:
Me desculpe se falei demais. (. Verssimo, A, II, 487)
Me arrepio todo... (Luandino Vieira, NM, 138)
b) a preferncia pela prclise nas oraes absolutas, principais e coordenadas
principiadas por palavra que exija ou aconselhe tal colocao:
Se Vossa Reverendssima me permite, eu me sento na rede. (J. Montello,
TSL, 176)
O usineiro nos entregava o acar pelo preo do dia, pagava a comisso e
armazenagem e ns especulvamos para as praas do Rio e So Paulo. (J. Lins
do Rego, U, 251)
A sua prima Jlia, do Golungo, lhe mandou um cacho de bananas. (Luandino
Vieira, NM, 54)
c) prclise ao verbo principal nas locues verbais:
Ser que o pai no ia se dar ao respeito? (Autran Dourado, SA, 68)
No, no sabes e no posso te dizer mais, j que no me ouves. (Luandino
Vieira, NM, 46)
Outro teria se metido no meio do povo, teria terminado com aquela misria,
sem sangue. (J. Lins do Rego, U, 222)
Tudo ia se escurecendo. (J. Lins do Rego, U, 338)
(O sublinhado nosso)
45
Filologia 7.pmd 45 20/7/2007, 13:16
LEITE, Marli Quadros. A Nova Gramtica do Portugus Contemporneo: tradio e modernidade.
Justificando essa ltima colocao, escreve Martinz de Aguiar:
Numa frase como ele vem-me ver, geral em Portugal, literria no Brasil, o
fator lgico deslocou o pronome me do verbo vem, para adjudic-lo ao verbo
ver, por ser ele determinante, objeto direto, do segundo e, no, do primeiro.
Isto : deixou a lngua falada no Brasil de dizer vem-me ver (fator histrico
por ser mera continuao do esquema geral portugus), para dizer vem me-
ver, que, tambm vigia na lngua, ligando-se o pronome ao verbo que o rege
(fator lgico). Esta colocao de tal maneira se estabilizou, que pouco se diz
vem ver-me e trouxe conseqncias imprevistas:
1) Pde-se juntar o pronome ao particpio procliticamente: Aqueles ha-
viam se-corrompido.
2) Pde-se pr o pronome depois dos futuros (do presente e do passado):
Poder se-reduzir, poderia se-reduzir. Deixando de ligar-se aos futuros, para
unir-se ao infinitivo, deixou igualmente de interpor-se aos elementos
constitutivos.
3) Em frases como vamo-nos encontrar, deixando o pronome de pospor-se
forma verbal pura, para antepor-se nominal, deixou igualmente de deter-
minar a dissimilao das slabas parafnicas, podendo-se ento dizer vamos
nos-encontrar. (p. 308)
O texto no traz nenhuma restrio s regras de colocao
pronominal no Brasil, o que significa estar o fenmeno gramatiza-
do. A frase dos autores, principalmente no colquio normal, cria
uma abertura bem ampla para subentendidos, porque logo inferi-
mos que em outros registros, exceto os do colquio normal, as re-
gras de colocao so admitidas. E, como lgico, o permitido do
subentendido opera no campo do que hierarquicamente superior
ao do posto, ou seja, em registros superiores ao do colquio nor-
mal, o que, inclusive, pode abranger outra modalidade lingstica.
O conhecimento da realidade, contudo no deixa dvida: o tema
est longe de encontrar consenso de uso. Na linguagem padro no-
literria por exemplo, jornalstica, cientfica, acadmica, adminis-
trativa etc. , pelo menos, a regra da prclise absoluta ainda no foi
aceita definitivamente. As demais tm vigncia plena e, se no so
seguidas, o que acontece em casos cada vez mais raros, por op-
o consciente do escritor.
De qualquer modo, fato que os autores no titubearam diante
da questo, no a deixaram para deciso de outros, nem para os
gramticos nem para os falantes, e, apesar de usarem, ainda, o dis-
46
Filologia 7.pmd 46 20/7/2007, 13:16
Filol. lingst. port., n. 8, p. 23-50, 2006.
curso de Martinz de Aguiar como apoio, no significa que se res-
tringiram s regras que esse autor havia dado, pois Cunha e Cintra
redigiram suas regras para o problema (a, b e c).
Um exame em gramticas anteriores de Cunha mostra que o
autor j havia pensado na incorporao da colocao brasileira no
texto da gramtica, mas, na dcada de 1970, quando foi publicada a
primeira edio da Gramtica do portugus contemporneo (1970) e de
sua compilao Gramtica moderna (1971) e, tambm, da Gramtica da
lngua portuguesa, MEC/FENAME (1971), no havia abertura para isso.
De qualquer modo, o texto que expe, quatorze anos antes da pu-
blicao da NGPC, nessa ltima gramtica, como concluso do cap-
tulo dos pronomes, quase um manifesto em favor da regulamen-
tao da colocao brasileira dos pronomes, como veremos a seguir:
A colocao de pronomes tonos no Brasil difere apreciavelmente da atual
colocao portuguesa e encontra, em alguns casos, similar na lngua medie-
val e clssica.
Em Portugal, esses pronomes se tornaram extremamente tonos, em virtu-
de do relaxamento e ensurdecimento de sua vogal. J no Brasil, embora os
chamemos tonos, so eles, em verdade, semitnicos. E essa maior niti-
dez de pronncia, aliada a particularidades de entoao e a outros fatores
(de ordem lgica, psicolgica, esttica, histrica, etc.), possibilita-lhes uma
grande variabilidade de posio na frase, que contrasta com a colocao
mais rgida que tm no portugus europeu.
Infelizmente, certos gramticos nossos, esquecidos de que esta variabili-
dade posicional, em tudo legtima, representa uma inestimvel riqueza
idiomtica, preconizam, no particular, a obedincia cega s atuais normas
portuguesas, sendo mesmo inflexveis no exigirem o cumprimento de al-
gumas delas, que violentam duramente a realidade lingstica brasileira.
Dentre essas regras arbitrrias e dogmticas, a mais conhecida (e, tambm,
a mais infringida no falar normal do Brasil) a que nos obriga a no comear
frases com pronomes tonos.
Com relao condenada prclise de pronome tono ao verbo principal de
locues verbais, convm meditar nestas agudas observaes do professor
Martinz de Aguiar: (...)
47
Filologia 7.pmd 47 20/7/2007, 13:16
LEITE, Marli Quadros. A Nova Gramtica do Portugus Contemporneo: tradio e modernidade.
A citao a Martinz Aguiar apresentada nesse texto de 1971
foi repetida no de 1985.13
A questo da colocao pronominal um dos casos, quase ra-
ros, de referncia norma africana e, como a fontica do portugus
africano mais parecida com a do europeu que a do brasileiro, essa
afirmativa soa um pouco estranha. De qualquer modo, assunto a
ser investigado.
Sobre o problema da colocao dos pronomes, Bechara (1999)
embora com uma gramtica mais recente, no avanou na questo
como Cunha e Cintra, pois repetiu a mesma opinio que expusera
nas verses anteriores de seu texto. Esse autor, calcado na lio de
Said Ali, explica a questo, mas no ultrapassa esse limite, embora
reconhea que o falar brasileiro no seja inferior ao portugus por
causa da colocao pronominal. Alis, deixa claro no texto que o
problema est resolvido pela via da fontica sinttica, mas repete
a restrio tradicional. Assim, diz Bechara:
A Gramtica alicerada na tradio literria, ainda no se disps a fazer
concesses a algumas tendncias do falar de brasileiros cultos, e no leva
em conta as possibilidades estilsticas que os escritores conseguem extrair
da colocao de pronomes tonos. Daremos aqui apenas aquelas normas
que, sem exagero, so observadas na linguagem escrita e falada das pes-
soas cultas. No se infringindo os critrios expostos, o problema questo
pessoal de escolha, atendendo-se s exigncias da eufonia. urgente afas-
tar a idia de que a colocao brasileira inferior que os portugueses
observam, porque:
a pronncia brasileira diversifica da lusitana; da resulta que a colocao
pronominal em nosso falar espontneo no coincide perfeitamente com o
falar dos portugueses.
A primeira regra que ele apresenta, dentro dos limites do que
entendeu pondervel, do que julgou sem exagero, quando dialo-
ga com gramticos antigos que j redigiram livros inteiros sobre o
assunto, : No se inicia perodo por pronome tono. Celso Cu-
nha e Lindley Cintra no foram ouvidos... ou lidos.
13
A citao em questo a que encerra o item c) prclise ao verbo principal nas locues
adverbiais, acima reproduzido na ntegra.
48
Filologia 7.pmd 48 20/7/2007, 13:16
Filol. lingst. port., n. 8, p. 23-50, 2006.
COMENTRIOS FINAIS
A investigao mostrou que a gramtica tradicional registra,
mesmo, alguns traos da hiperlngua brasileira. O forte da NGPC o
contraste do portugus europeu com o brasileiro, j que o africano
aparece apenas marginalmente. Tambm a exemplificao no tem
paridade entre as trs variedades, fica, assim, a africana em prejuzo.
O trabalho dos autores, embora excelente, porque renovador
do modelo tradicional, apresenta ainda falhas que se devem, talvez,
ao aproveitamento macio de textos de gramticas anteriores. Em
alguns casos, faltou calibrar o texto na medida da nova proposta: a
de operar no mbito das variedades geogrficas e, conseqente-
mente, sociais.
A questo da colocao dos pronomes no Brasil, desde o pe-
rodo de constituio do pensamento crtico controversa. Talvez
por ser a questo gramatical de maior relevo e visibilidade, ganhou
contornos polticos, foi smbolo de nacionalismo e tornou-se fun-
damental construo da identidade da lngua praticada no Brasil.
Lingisticamente falando, um fenmeno como qualquer outro e
assim deve ser analisado. Por enquanto, h variao de uso quanto
prclise absoluta, a depender da modalidade, e, em certos casos,
especiais, do registro. Segundo pensamos, para se chegar melhor
concluso sobre o tema, seria imprescindvel uma pesquisa que se
voltasse linguagem tcnica, cientfica, acadmica e jornalstica mais
recentes, para se verificar o problema da prclise absoluta na es-
crita.
BIBLIOGRAFIA
AUROUX, Sylvain (1992). A revoluo tecnolgica da gramtica. Trad. Eni Orlandi. Campinas:
Ed. Unicamp.
____. (1994). A hiperlngua e a externalidade da referncia. Gestos de leitura. Campinas: Ed.
Unicamp.
____. (1998). La raison, le langage et les normes. Paris: PUF.
49
Filologia 7.pmd 49 20/7/2007, 13:16
LEITE, Marli Quadros. A Nova Gramtica do Portugus Contemporneo: tradio e modernidade.
BIDERMAN, Maria Teresa (2001). O portugus brasileiro e o portugus europeu: identida-
des e constrastes. Revue Belge de Philologie et dHistoire. Fasc. 3, n. 70, p. 963-975.
CUNHA, Celso. (1976). Uma poltica do idioma. 4. ed. ataul. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
____. (1977). Lngua portuguesa e realidade brasileira. 7. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
____. (1981). Lngua, nao e alienao. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
CASSIN, Barbara (Dir.) (2004). Vocabulaire europen des philosophes. Paris: Seuil/Le Robert.
HOUAISS, Antnio (1985). O portugus no Brasil. Rio de Janeiro: UNIBRADE.
LEITE, M. Q. (2000). A influncia da lngua falada na norma prescritiva. In: PRETI, D. (Org.)
Fala e Escrita. So Paulo: Humanitas, 2000, p. 129-155
____. (2007). O nascimento da gramtica portuguesa uso e norma. So Paulo: Humanitas/
Paulistana. (no prelo).
ORLANDI, Eni (1998). La formation dun espace de production linguistique. La grammaire
du Brsil. Langages Lhyperlange brsilienne, n. 130, juin, p. 8-27.
____. (2001). Lngua e conhecimento lingstico. So Paulo: Cortez.
____. (2005). A lngua brasileira. Lnguas do Brasil, ano 57, n. 2, abr./maio, jun.
FONTES
BECHARA, Evanildo (1999). Moderna gramtica do portugus contemporneo. Rio de Janei-
ro: Lucerna.
CUNHA, Celso e CINTRA, Lindley (1985). Nova gramtica do portugus contemporneo. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira.
____. (1971). Gramtica moderna. 3. ed. Belo Horizonte: Bernardo lvares.
____. Gramtica da lngua portuguesa. 4. ed. Rio de Janeiro: MEC/FENAME.
ABSTRACT: In this paper we analyze the Nova gramtica do Portugus Contemporneo (New
Grammar of Contemporary Portuguese), written by Celso Cunha and Lindley Cintra (1985). We
start from the presupposition that traditional grammar is, from the cultural and historical point
of view, an important linguistic tool (Auroux, 1998) for society. Our goal is to show that traditional
grammar also displays the historical aspects of the language, including data of the linguistic
reality (hyperlanguage). This is a paper in linguistic historiography and intends to examine a
content that, in this case, is the register of aspects of the brazilian variety of portuguese as a
linguistic tool.
KEYWORDS: Traditional Grammar; Hyperlanguage; Linguistic instruments; Brazilian Portuguese.
50
Filologia 7.pmd 50 24/7/2007, 12:27
Você também pode gostar
- Planner LiterárioDocumento43 páginasPlanner Literáriodannypsicologa2013Ainda não há avaliações
- Gramatica Portuguesa Mateus.Documento556 páginasGramatica Portuguesa Mateus.Letícia Sallorenzo60% (5)
- Exercícios Reforço Tempos Compostos ResolvidoDocumento4 páginasExercícios Reforço Tempos Compostos ResolvidoKarla Padilha100% (3)
- 5º ANO - Atividades Do Fundamental LDocumento159 páginas5º ANO - Atividades Do Fundamental LPoliana RodriguesAinda não há avaliações
- PIGNATARI, Décio. Semiótica Poética. in O Que É Comunicação Poética. p.14-20Documento10 páginasPIGNATARI, Décio. Semiótica Poética. in O Que É Comunicação Poética. p.14-20João Victor RomansiniAinda não há avaliações
- 3.2-CostaVal-Texto, Textualidade e Textualização (TEXTOEXTRA)Documento23 páginas3.2-CostaVal-Texto, Textualidade e Textualização (TEXTOEXTRA)Ana CamilaAinda não há avaliações
- Sintaxe Da Frase Ao TextoDocumento224 páginasSintaxe Da Frase Ao TextoBlenda Priscylla100% (2)
- Resumo Morfologia PDFDocumento7 páginasResumo Morfologia PDFCartoonadoAinda não há avaliações
- Aula 1 - 2021 - Com RespostasDocumento8 páginasAula 1 - 2021 - Com Respostasbrmarceloalves100% (2)
- Estudos Linguísticos Aula 1Documento15 páginasEstudos Linguísticos Aula 1diogolov100% (1)
- Análise e história da língua portuguesa: Uma vida entre palavrasNo EverandAnálise e história da língua portuguesa: Uma vida entre palavrasAinda não há avaliações
- Os (Inter)Discursos na Formação Docente em LetrasNo EverandOs (Inter)Discursos na Formação Docente em LetrasAinda não há avaliações
- Plurilinguismo: Por um universo dialógicoNo EverandPlurilinguismo: Por um universo dialógicoAinda não há avaliações
- Fundamentos Latinos do Português BrasileiroNo EverandFundamentos Latinos do Português BrasileiroAinda não há avaliações
- Texto 2 2004 Costa Val Texto, Textualidade.Documento11 páginasTexto 2 2004 Costa Val Texto, Textualidade.Jany Eric Queiros Ferreira100% (1)
- Sintaxe Do Portugues Feow PDFDocumento20 páginasSintaxe Do Portugues Feow PDFandreprazAinda não há avaliações
- Português InstrumentalDocumento108 páginasPortuguês InstrumentalGlaucia VazAinda não há avaliações
- Fontica e FonologiaDocumento68 páginasFontica e Fonologiajosianne100% (2)
- Introducao A TerminologiaDocumento7 páginasIntroducao A TerminologiaRodrigo MoncksAinda não há avaliações
- Nova Gramática Do Português ContemporâneoDocumento2 páginasNova Gramática Do Português ContemporâneoThiago Carvalho SousaAinda não há avaliações
- Competencia LinguisticaDocumento15 páginasCompetencia Linguisticaarlindo.fraAinda não há avaliações
- Dino PretiDocumento32 páginasDino PretiJosé Ricardo Carvalho0% (1)
- Portugues Instrumental Aula 01 Volume1Documento16 páginasPortugues Instrumental Aula 01 Volume1Eveline Soledade100% (1)
- Pesquisas Sobre Letramento em Contexto Universitário A Produção Do Laboratório de Letramento Acadêmico (LLAC) Da USPDocumento184 páginasPesquisas Sobre Letramento em Contexto Universitário A Produção Do Laboratório de Letramento Acadêmico (LLAC) Da USPMarlon Bambirra100% (2)
- EMENTA UEMA: Sintaxe Da Língua PortuguesaDocumento3 páginasEMENTA UEMA: Sintaxe Da Língua PortuguesaWadames Santos100% (2)
- Variação Linguística - 2021Documento33 páginasVariação Linguística - 2021nks8Ainda não há avaliações
- Comunicação e Expressão - Mod1 - Ua1Documento24 páginasComunicação e Expressão - Mod1 - Ua1Valmir SANTOSAinda não há avaliações
- O Novo Acordo Otográfico (Tema 2)Documento23 páginasO Novo Acordo Otográfico (Tema 2)Piter CostaAinda não há avaliações
- Modalidades de Tradução - Teoria e ResultadosDocumento26 páginasModalidades de Tradução - Teoria e Resultadoscarlosslash7129Ainda não há avaliações
- Teoria Da Tradução e InterpretaçãoDocumento24 páginasTeoria Da Tradução e InterpretaçãoRodolfo RochaAinda não há avaliações
- Ensino de Lingua Portuguesa PDFDocumento23 páginasEnsino de Lingua Portuguesa PDFCarolina Freitas PeresAinda não há avaliações
- Redacao EmpresarialDocumento130 páginasRedacao EmpresarialFap Flávio100% (1)
- (Texto06) Decálogo para Solicitar Una Pericial Linguística (PT)Documento26 páginas(Texto06) Decálogo para Solicitar Una Pericial Linguística (PT)MARIANA FERREIRA DE FUCCIOAinda não há avaliações
- Português para Estrangeiros e Os Materiais Didáticos: Um Olhar DiscursivoDocumento335 páginasPortuguês para Estrangeiros e Os Materiais Didáticos: Um Olhar DiscursivoRogérioAinda não há avaliações
- Clark Using Language PDFDocumento82 páginasClark Using Language PDFElizabeth GarcíaAinda não há avaliações
- FF CONELP Completo Verd03 AltDocumento349 páginasFF CONELP Completo Verd03 AltViviane Silva100% (1)
- Cadernos De: Letramentos AcadêmicosDocumento143 páginasCadernos De: Letramentos Acadêmicoslucas Rodrigo uchoa100% (1)
- Registos de L'inguaDocumento4 páginasRegistos de L'inguaElisabete RodriguesAinda não há avaliações
- Generos MultimodaisDocumento25 páginasGeneros Multimodaisjane keli AlmeidaAinda não há avaliações
- A Classificação Dos Vocábulos Formais, de Joaquim Mattoso Câmara JúniorDocumento4 páginasA Classificação Dos Vocábulos Formais, de Joaquim Mattoso Câmara JúniorPriscila Borges50% (2)
- História Da Ortografia Do PortuguêsDocumento2 páginasHistória Da Ortografia Do PortuguêsIracema VasconcellosAinda não há avaliações
- Introdução Aos Estudos Da TraduçãoDocumento41 páginasIntrodução Aos Estudos Da TraduçãoJoão Ricardo Bispo Jesus100% (1)
- DUARTE R. Léxico e Gramática No Estudo Da Transitividade VerbalDocumento4 páginasDUARTE R. Léxico e Gramática No Estudo Da Transitividade VerbalNeitzsche DzoiAinda não há avaliações
- Atividade Linguística AplicadaDocumento7 páginasAtividade Linguística AplicadaPaula Ramos GhiraldelliAinda não há avaliações
- MATEUSetal GramaticaPortuguesa PDFDocumento556 páginasMATEUSetal GramaticaPortuguesa PDFRicardo Campos CastroAinda não há avaliações
- Frederico Lopes, Cinema em Português, Jornada 3Documento131 páginasFrederico Lopes, Cinema em Português, Jornada 3omanuel1980Ainda não há avaliações
- Ler e Escrever Estrategias de Producao TextualDocumento2 páginasLer e Escrever Estrategias de Producao TextualMauricio FerreiraAinda não há avaliações
- WEEDWOOD B Historia Concisa Da Linguistica Traduca PDFDocumento8 páginasWEEDWOOD B Historia Concisa Da Linguistica Traduca PDFAquiles Tescari NetoAinda não há avaliações
- Literatura de CordelDocumento17 páginasLiteratura de CordelThiers_Wasf_dd_9570Ainda não há avaliações
- A Recepção Da Literatura Brasileira em Portugal Durante o Século XIXDocumento307 páginasA Recepção Da Literatura Brasileira em Portugal Durante o Século XIXBrenda Carlos de AndradeAinda não há avaliações
- PragmaticaDocumento52 páginasPragmaticaCatia SfiaAinda não há avaliações
- 2-Leitura e Producao de TextosDocumento38 páginas2-Leitura e Producao de TextosPedro RochaAinda não há avaliações
- A Forma e o Sentido Na Linguagem PDFDocumento23 páginasA Forma e o Sentido Na Linguagem PDFpaulaavilan9883Ainda não há avaliações
- Letramento e Diversidade Textual - Roxane RojoDocumento6 páginasLetramento e Diversidade Textual - Roxane RojoMônica SatoAinda não há avaliações
- Morfologia Portuguesa DerivaçãoDocumento21 páginasMorfologia Portuguesa DerivaçãoJosy MariaAinda não há avaliações
- TecendoLiteratura LivroDocumento542 páginasTecendoLiteratura LivroElaine Andreatta100% (3)
- Português InstrumentalDocumento46 páginasPortuguês InstrumentalAna Lívia Rodrigues100% (1)
- Palavras CultasDocumento3 páginasPalavras CultasOannes33Ainda não há avaliações
- CHS 2014 - Apostila de Portugues InstrumentalDocumento40 páginasCHS 2014 - Apostila de Portugues InstrumentalYronwerysAinda não há avaliações
- Análise de TextoDocumento87 páginasAnálise de TextoÊnio Cavalcanti100% (1)
- Ebook ProfletrasDocumento218 páginasEbook ProfletrasUlissivaldoCaetanoAinda não há avaliações
- Estudos de Gramática DescritivaDocumento323 páginasEstudos de Gramática DescritivaLuiz100% (1)
- Pode Um Homossexual Ser Um ComunistaDocumento14 páginasPode Um Homossexual Ser Um ComunistaEstrela da ManhãAinda não há avaliações
- Bernard Lahire - Crenças Coletivas e Desigualdades CulturaisDocumento13 páginasBernard Lahire - Crenças Coletivas e Desigualdades CulturaismoniqueserraAinda não há avaliações
- Sugestões de Atividades Port - SurdosDocumento119 páginasSugestões de Atividades Port - SurdosEstrela da ManhãAinda não há avaliações
- A Post I La Pedagogic A 2012Documento149 páginasA Post I La Pedagogic A 2012Ricardo Quaresma100% (1)
- Ativ Ed Infantil 1setDocumento49 páginasAtiv Ed Infantil 1setRegiane FerreiraAinda não há avaliações
- Amigo Do Peito ExDocumento1 páginaAmigo Do Peito ExJanaína AlmeidaAinda não há avaliações
- Enes2016 Manual v10Documento53 páginasEnes2016 Manual v10Ricardo GomesAinda não há avaliações
- Luisa GarbazzaDocumento3 páginasLuisa GarbazzaLúcio Júnior Espírito SantoAinda não há avaliações
- AULA 2 - 6º - INGLÊS - Simple Present Present Continuous and Personal PronounsDocumento18 páginasAULA 2 - 6º - INGLÊS - Simple Present Present Continuous and Personal PronounsCarmelia Maria Tavares de BarrosAinda não há avaliações
- Salmo 30Documento3 páginasSalmo 30Gilsandra RodriguesAinda não há avaliações
- Matemática 1Documento2 páginasMatemática 1Bruno Bispo100% (1)
- UltraVNC ManualDocumento2 páginasUltraVNC ManualAlexandre SoaresAinda não há avaliações
- Norma Culta e Variação LinguísticaDocumento36 páginasNorma Culta e Variação LinguísticaAlineAinda não há avaliações
- Psicodinámica y Parámetros VocalesDocumento8 páginasPsicodinámica y Parámetros VocalesElizabeth Jaramillo ValdebenitoAinda não há avaliações
- Filosofia GlossárioDocumento16 páginasFilosofia GlossárioMárcio CelsoAinda não há avaliações
- Live Prefeitura de Castanhal-PA - Quebrando A Banca CETAP - Língua Portuguesa - Yara CoeliDocumento5 páginasLive Prefeitura de Castanhal-PA - Quebrando A Banca CETAP - Língua Portuguesa - Yara CoeliTHALYTA SILVA SOUSAAinda não há avaliações
- NLADocumento11 páginasNLAManuel BarbosaAinda não há avaliações
- Epistemologia PDFDocumento14 páginasEpistemologia PDFroder_nagib_goesAinda não há avaliações
- H - SimbolismoDocumento12 páginasH - SimbolismoAdeilson50% (2)
- Fruto AmorDocumento9 páginasFruto AmorDenis MarquesAinda não há avaliações
- Domingos Calebe - Depois Da Semana SantaDocumento34 páginasDomingos Calebe - Depois Da Semana Santalegra ficAinda não há avaliações
- 8 Quinzena 2 AnoDocumento76 páginas8 Quinzena 2 AnoPaula VelascoAinda não há avaliações
- Passos para Integracao Na HolandaDocumento6 páginasPassos para Integracao Na HolandaSilonita OliveiraAinda não há avaliações
- Renata Aparecida Do NascimentoDocumento5 páginasRenata Aparecida Do NascimentoCleia Rejane SilvaAinda não há avaliações
- Auto CadDocumento7 páginasAuto CadJosué SantosAinda não há avaliações
- O Campo e A Escrita: Relações IncertasDocumento15 páginasO Campo e A Escrita: Relações IncertasErica GiesbrechtAinda não há avaliações
- Lista - 01 - SolucoesDocumento18 páginasLista - 01 - SolucoesBreno PimentaAinda não há avaliações
- Modo ImperativoDocumento2 páginasModo ImperativoDileuza SantosAinda não há avaliações
- John M. Frame - Não Há Outro Deus - Uma Resposta Ao Teísmo AbertoDocumento192 páginasJohn M. Frame - Não Há Outro Deus - Uma Resposta Ao Teísmo AbertoRodrigo CoimbraAinda não há avaliações
- Notebook GitDocumento6 páginasNotebook GitBruno AlvesAinda não há avaliações
- FichaTrabalho GRAMÁTICA Revisão+CorreçãoDocumento4 páginasFichaTrabalho GRAMÁTICA Revisão+CorreçãoMateus SerraAinda não há avaliações