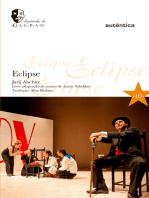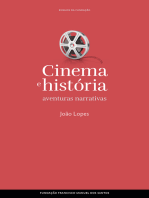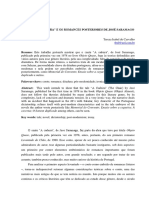Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Gaudreault & Jost, FOCALIZAÇÃO
Enviado por
Marta MendesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Gaudreault & Jost, FOCALIZAÇÃO
Enviado por
Marta MendesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Gaudreault, A. & Jost., F.
Le Récit Cinématographique, Broché, Armand
Colin - Cinéma, 2005
CAP. 6
PONTO DE VISTA
Nas conversas com Truffaut, Hitchcock opõe a surpresa ao suspense da
seguinte forma (Truffaut, 1983: 59):
« Estamos a falar, talvez haja uma bomba em cima desta mesa e a nossa
conversa é banal, não se passa nada de especial, e de repente: boum,
explosão. O público é surpreendido, mas antes, mostrámos-lhe uma cena
banal, destituída de interesse. Agora examinemos o suspense. A bomba está
sobre a mesa e o público sabe-o, provavelmente porque viu o anarquista a
colocá-la lá. O público sabe que a bomba vai explodir à uma hora e sabe
que são uma hora menos um quarto – há um relógio no décor; a mesma
conversa anódina torna-se de repente muito interessante porque o público
participa na cena. Tem vontade de dizer aos personagens que estão no ecrã:
“Não deviam estar a contar coisas tão banais, está uma bomba em cima da
mesa e vai explodir daqui a pouco.” No primeiro caso, oferecemos ao
público quinze segundos de surpresa no momento da explosão. No segundo
caso, oferecemos-lhe quinze minutos de suspense. »
No fim de contas, o acontecimento contado é o mesmo ( um atentado) e,
no entanto, a emoção sentida pelo espectador nos dois difere
consideravelmente: a primeira explosão é uma surpresa, ao mesmo tempo
para os personagens que dela são vítimas e para o espectador que assiste à
cena; a segunda apenas é uma surpresa para os personagens: como insiste
Hitchcock, o facto do espectador ter visto o anarquista a colocar a bomba
coloca-o numa situação em que ele sabe, antes dos personagens, aquilo que
vai acontecer (daqui a sua vontade de comunicar com eles para os
prevenir...). Como não pensar, ao ler Hitchcock, no magistral início de A
Sede do Mal (Touch of Evil, Orson Welles, 1958), em que vemos uma
bomba a ser colocada no carro de um casal de americanos que passam a
fronteira americano-mexicana.
Enquanto no regime da « surpresa », a narrativa não transmite
informações narrativas de que os personagens têm conhecimento, no «
suspense », ela dá-nos mais elementos do que aqueles que eles possuem,
nomeadamente apresentando-nos uma acção que eles não presenciaram e
que, portanto, ignoram. O problema que coloca Hitchcock não é o de saber
quem conta a narrativa (quem é o narrador, quem fala), mas o do « foco »
que orienta aquilo a que Genette chama a perspectiva narrativa.
Esta questão foi explicitamente levantada, a partir do fim do século XIX,
pelo escritor Henry James e foi muito trabalhada pelos teóricos da literatura
do século XX. Genette teve o mérito de estabelecer uma síntese destas
teorias de vários autores, com uma classificação em que vários teóricos do
cinema se apoiaram para clarificar esta questão do « foco » narrativo.
1. FOCALIZAÇÃO EM GENETTE
Para a maioria dos autores, independentemente da terminologia que
empreguem ( « visão », « campo », « ponto de vista ») as relações de saber
entre narrador e personagem resumem-se pelo sistema de igualdades ou
desigualdades proposto por Todorov (1966):
Narrador > Personagem: onde o narrador sabe mais do que o personagem,
ou diz mais do que sabe qualquer personagem;
Narrador = Personagem: onde o narrador diz apenas aquilo que sabe o
personagem;
Narrador < Personagem: onde o narrador diz menos do que o que sabe o
personagem
« Para evitar que os termos visão, campo e ponto de vista pareçam
especificamente visuais », Genette (1972) propõe o termo de focalização,
para salientar que a questão é, antes de mais, a de determinar qual é o foco
da narrativa. Assim, chegamos à seguinte tríade:
- Narrativa não focalizada ou focalização zero, quando o narrador é «
omnisciente », ou seja, quando ele diz mais do que aquilo que sabe
qualquer um dos personagens.
- Narrativa de focalização interna: fixa, quando a narrativa dá a
conhecer os acontecimentos como se fossem filtrados por uma
consciência de um único personagem (Genette dá como exemplo O
que sabia Maisie, de Henry James, romance em que se conta aquilo
que só pode ter sido conhecido por uma criança, que toma o papel de
« centro de perspectiva » ); variável, quando o personagem focal
muda ao longo do romance ( como em Madame Bovary, de Flaubert,
em que o foco narrativo é em primeiro lugar Charles, depois Emma e
depois novamente Charles); múltipla, quando o mesmo
acontecimento é evocado várias vezes segundo o ponto de vista de
diversos personagens ( e Genette dá como exemplo Rashomon, onde
a morte de um samurai é contada, à vez, por vários personagens);
- Narrativa de focalização externa, quando o leitor ou o espectador
não conhece os pensamentos ou os sentimentos do herói (narrativa a
que muitas vezes se dá o nome de « narrativa behaviorista » [ CF.
Claude-Edmonde Magny, 1948].
Como podemos constatar, a focalização é antes de mais definida por
uma relação de saber entre o narrador e as suas personagens. No
entanto, ao longo do seu trabalho, Genette deu-se conta de um outro
factor: o ver. Assim acontece quando ele evoca « a cena do fiacre em
Bovary, que é inteiramente contada a partir do ponto de vista de uma
testemunha exterior e inocente » (Genette, 1972: 208); ou ainda quando
ele precisa que a focalização interna « implica com todo o rigor que o
personagem focal nunca seja descrito, nem mesmo designado do
exterior ». (Ibid: 209)
II. SABER E VER: FOCALIZAÇÃO E OCULARIZAÇÃO
Se esta confusão entre saber e ver, reunidas sob o mesmo termo de «
focalização », pode parecer legítima quando se trata do romance onde,
qualquer que seja o romance, apenas metaforicamente falamos de visão,
quando tentamos reflectir sobre a representação do ponto de vista numa
arte visual como o cinema, ela torna-se menos clara. Tanto mais que o
filme sonoro pode mostrar aquilo que vê um personagem e dizer aquilo
que ele pensa. Não será paradoxal que Genette pegue no exemplo do
Rashomon como exemplo de focalização interna? Com efeito, se o filme
de Kurosawa põe em cena quatro narrativas sobre a morte de um
samurai, a verdade é que ele também mostra estas personagens do «
exterior », contradizendo aquilo que Genette tinha estabelecido como
princípio da focalização interna e segundo o qual o personagem focal
não deveria nunca – no interior deste regime – « ser designado do
exterior ». É precisamente a partir desta constatação que podemos
propor separar os pontos de vista visual e cognitivo, dando-lhes
respectivamente, nomes diferentes. Segundo o sistema assim elaborado,
a « ocularização » caracteriza a relação entre aquilo que a câmara
mostra e aquilo que o personagem vê. Este termo, emprestado da
palavra ocular – que designa também, como substantivo, « o sistema de
óptica colocado do lado do observador que serve para examinar a
imagem fornecida pela objectiva » e, como adjectivo, « aquele que viu
qualquer coisa, o testemunho ocular -, não é de forma nenhuma um
neologismo, pois encontramos já, com o poeta Jules Supervielle, esta
observação: « No cinema, cada espectador se torna um grande olho, tão
grande como a sua pessoa, um olhar que não se contenta apenas com as
suas funções habituais, mas que lhe adiciona as do pensamento, do odor,
do ouvido, do gosto e do toque. Todos os nossos sentidos se ocularizam.
» « Focalização » continua a designar o ponto de vista cognitivo
adoptado pela narrativa.
Para estabelecer a relação entre aquilo que a câmara mostra e aquilo
que o personagem vê, é preciso tentar determinar o seguinte: como é
que, no cinema, se pode compreender que aquilo que nós vemos valha
para para o olhar de um personagem? Eis uma questão com que o
cinema se preocupou desde muito cedo. Disto é testemunha um pequeno
filme, muito engraçado, intitulado How it Feels to Be Run Over
(Hepworth, 1900):
Uma carruagem de cavalos avança até ao primeiro plano sobre uma
estrada com árvores dos dois lados e sai para a direita do quadro.
Sucede-lhe um automóvel: ao mesmo tempo que ele se dirige para a
câmara, os seus ocupantes agitam-se e gesticulam para nós. Mas o
automóvel continua o seu trajecto até preencher todo o ecrã que se torna
negro. Uma multidão de pequenas manchas brancas aparecem no ecrã,
bem como pontos de interrogação e de exclamação. Finalmente aparece
a seguinte frase: « Oh, mother will be pleased! ».
Neste filme, que tem por objectivo – sabêmo-lo pelos catálogos da
época – dar a sensação de uma colisão entre o veículo e um obstáculo
humano não identificado, situado por detrás da câmara, ou no lugar
dela, fazendo-se depois, literalmente, atropelar (« to be run over » ), o
espectador é posto numa situação em que ele se identifica fortemente
com as condições do registo das imagens: aquilo que ele vê é o segundo
veículo que se aproxima dele, mais do que os gestos daqueles que vão lá
dentro. Esta « identificação primária » (Metz, 1977: 79) com a câmara
põe o espectador em ligação com a situação da fonte de observação por
relação ao automóvel. A imagem é então sentida como um traço que liga
aquilo que é visto sobre o ecrã a uma posição real ou uma situação
diegética (o atropelamento). Nesta medida, ela joga como , no sentido
em que esse « Eh! » que grita da carruagem para chamar a atenção ao
peão que se arrisca a ser atropelado é um índice, segundo Peirce (1978:
155), porque ele põe-no « em relação real com o objecto que é a sua
situação por relação ao cavalo que se aproxima ».
Quando visionamos este filme temos claramente a impressão de uma «
vista » Lumière, simples mostração sem surpresa; depois, quando o
carro vem na nossa direcção, a sua identificação com o instrumento de
tomada de ponto de vista ( a câmara) torna-se mais importante que o
próprio ponto de vista; finalmente, na leitura da inscrição: « Oh, mother
will be pleased! », temos nitidamente a impressão de ter partilhado um
olhar (as « manchas brancas » tinham como objectivo significar as
estrelas vistas pelo infortunado acidentado, sabêmo-lo também pelos
catálogos da época). Para interpretar um plano como este, é-nos
necessário, então, situar o olhar-camâra sob um eixo imaginário.
Isto significa que existem três atitudes possíveis por relação à
imagem cinematográfica: quando a consideramos como vista por
um olhar e, então, remetêmo-la a um personagem, quando o
estatuto ou a posição da câmara a transporta e a atribuímos a uma
instância externa ao mundo representado, grand imagier genérico e,
finalmente, quando se tenta apagar a existência deste eixo: é a
famosa ilusão de transparência.
Estas três atitudes levam-nos, de facto, a uma alternativa: ou um plano
está ancorado num olhar de uma instância interna à diegése e há, neste
caso, ocularização interna, ou ele não reenvia a um olhar e é uma
ocularização zero (Jost, 1983). Podemos explicitar esta oposição da
seguinte forma:
primária
Interna:
secundária
Ocularização :
zero
Ocularização interna primária:
Ela conhece várias configurações. Primeiro caso: quando se marca no
significante a materialidade de um corpo, imóvel ou não, ou a presença
de um olho que permite, sem recorrer necessariamente ao contexto,
identificar um personagem ausente na imagem. Trata-se então de
sugerir o olhar, sem necessariamente o mostrar; para isto, construímos a
imagem como um índice, como um traço que permite imediatamente ao
espectador estabelecer um elo imediato entre aquilo que vê e o
instrumento de tomada de ponto de vista que captou ou reproduziu o
real, pela construção de uma analogia com a sua própria percepção. De
facto, este tipo de inferência não funciona bem a não ser que a imagem
seja afectada por um coeficiente de deformação por relação àquilo que
as convenções cinematográficas consideram como a visão normal de
uma época dada: desdobramento, névoa ostensiva, que remeta para um
personagem bêbedo, estrábico ou míope. Há inúmeros exemplos. Mas
contentemo-nos com estes: as imagens esfumadas ou deformadas vistas
pelo porteiro bêbedo de O último dos homens; a estrada que se desdobra
em Intriga Internacional, quando Kaplan (Gary Grant), foi obrigado a
ingerir uma forte quantidade de whisky; e também, por exemplo, uma
grande parte de Film (Beckett, 1965) em que certos planos vidrados e
nebulosos reenviam ao olhar de um zarolho. O olhar pode assim ser
construído directamente pela interposição de um ponto qualquer que
sugira a presença de um olhar: buraco de fechadura, binóculo,
microscópio, etc. É sem dúvida a razão pela qual, no cinema, se
utilizaram estes procedimentos muito antes de existir aquilo a que
chamamos hoje o « raccord de um olhar ».
A representação de uma parte do corpo em primeiro plano permite
também reenviar ao olhar por contiguidade, como acontece, por
exemplo, em A Casa encantada (Hitchcock,1945) que decididamente
adorava este tipo de composição visual, em que vemos o braço armado
do Dr. Murchison, apontando para a heroína situada no fundo do quarto:
o revolver segue-a, depois o gesto é interrompido subitamente, a mão
volta a arma para a câmara... e é uma explosão ofuscante.
Resta aquilo a que chamamos geralmente o movimento da câmara «
subjectiva », que reenvia a um corpo, seja pelo « tremer », seja pela sua
posição relativamente ao objecto olhado: assim, a passagem de Os
Passageiros da noite, em que temos uma panorâmica muito rápida sobre
a paisagem para seguir os motards que passam na estrada, ou o princípio
de M (Fritz Lang, 1931), quando a menina é primeiro mostrada em
plongée e depois seguida por um travelling à altura do homem, pelo que
compreendemos bem que a câmara constrói o olhar do assassino.
Ocularização interna secundária:
Define-se pelo facto da subjectividade da imagem ser construída pelos
raccords (como no campo-contracampo), por uma contextualização. Não
importa qual seja a imagem ligada a um olhar mostrado no ecrã, desde que
as regras de « sintaxe » sejam respeitadas.
Ocularização zero:
Quando a imagem não é vista por nenhuma instância intradiegética,
nenhuma personagem, quando ela é um puro « nobody’s shot », como
dizem os americanos, falamos de ocularização zero. O plano remete então a
um grand imagier, cuja presença pode ser mais ou menos localizada.
Devemos distinguir alguns casos:
a) A câmara pode estar fora de qualquer personagem, numa posição não
marcada; trata-se simplesmente de mostrar a cena fazendo esquecer
ao máximo o aparelho de registo das imagens: é o regime mais
corrente do cinema de grande consumo.
b) A posição ou o movimento da câmara podem sublinhar a autonomia
do narrador por relação às personagens da sua diegése: assim no
início de Citizen Kane quando, apesar do cartaz (intradiegético ) «
No trespassing », passamos para lá da cerca por um travelling
vertical. Aqui, a câmara está ao serviço de um narrador que pretende
afirmar o seu papel e não dar-nos a ilusão de que o mundo se conta
por si só.
c) A posição da câmara pode também reenviar, para lá do seu papel
narrativo, a uma escolha estilística, que apresenta fundamentalmente
o autor: por exemplo, os contra-plongés de Welles ou os «
desenquadramentos » de Godard.
In: Gaudreault & Jost, Le récit cinématographique, Nathan Université,
Nathan, 1990, p. 127- 124
Você também pode gostar
- Jean-Claude Bernardet O Processo Como ObraDocumento6 páginasJean-Claude Bernardet O Processo Como ObraRodrigoCerqueiraAinda não há avaliações
- O foco narrativo e suas principais abordagensDocumento8 páginasO foco narrativo e suas principais abordagensBruno Ribeiro Nascimento100% (1)
- Personagens: entre o literário, o midiático e o socialNo EverandPersonagens: entre o literário, o midiático e o socialNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Bernardet 80: Impacto e Influência no Cinema BrasileiroNo EverandBernardet 80: Impacto e Influência no Cinema BrasileiroNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Fichamento MULVEY, Laura. Prazer Visual e Cinema NarrativoDocumento4 páginasFichamento MULVEY, Laura. Prazer Visual e Cinema NarrativoLetícia LimaAinda não há avaliações
- Narrativa CinematográficaDocumento12 páginasNarrativa CinematográficaLeonardo da SilvaAinda não há avaliações
- FrancoisJost NovasMidiasDocumento18 páginasFrancoisJost NovasMidiasRodrigo Martins AragãoAinda não há avaliações
- Associação Robert Walser para sósias anônimos - 2º Prêmio Pernambuco de LiteraturaNo EverandAssociação Robert Walser para sósias anônimos - 2º Prêmio Pernambuco de LiteraturaAinda não há avaliações
- Páginas perversas: narrativas brasileiras esquecidasNo EverandPáginas perversas: narrativas brasileiras esquecidasAinda não há avaliações
- Artigo Sobre o Conto Cadeira de Jose Saramago 09 - Artigo - Tereza - Isabel - de - Carvalho PDFDocumento8 páginasArtigo Sobre o Conto Cadeira de Jose Saramago 09 - Artigo - Tereza - Isabel - de - Carvalho PDFLemuel DinizAinda não há avaliações
- O cinema entre a repressão, a alegoria e o diálogo: 1970-1971No EverandO cinema entre a repressão, a alegoria e o diálogo: 1970-1971Ainda não há avaliações
- Literatura e cinema: diálogo entre linguagensDocumento83 páginasLiteratura e cinema: diálogo entre linguagensgabitz88Ainda não há avaliações
- Paisagem e Deriva no Cinema de Clint Eastwood: décadas de 70, 80 e 90No EverandPaisagem e Deriva no Cinema de Clint Eastwood: décadas de 70, 80 e 90Ainda não há avaliações
- Hutcheon - Teoria e Política Da IroniaDocumento8 páginasHutcheon - Teoria e Política Da IroniaLuhren100% (1)
- Drama SociedadeDocumento8 páginasDrama SociedadeCássio TavaresAinda não há avaliações
- XAVIER, Ismail - Sertão Mar PDFDocumento10 páginasXAVIER, Ismail - Sertão Mar PDFHerval JuniorAinda não há avaliações
- Produção de Presença - GumbrechtDocumento4 páginasProdução de Presença - GumbrechtFabíola Lourenço100% (1)
- Absurdo e censura no teatro português: A produção dramatúrgica de Helder Prista Monteiro: 1959-1972No EverandAbsurdo e censura no teatro português: A produção dramatúrgica de Helder Prista Monteiro: 1959-1972Ainda não há avaliações
- Plínio Marcos e o cinema brasileiroDocumento334 páginasPlínio Marcos e o cinema brasileiroArthur MariánAinda não há avaliações
- SOUTO, Mariana. Constelações FílmicasDocumento13 páginasSOUTO, Mariana. Constelações FílmicasTranse FilmesAinda não há avaliações
- A Mise-en-Scène Como Criação de Um Espaço Essencialmente Cinematográfico: o Sonoro e o InfalívelDocumento101 páginasA Mise-en-Scène Como Criação de Um Espaço Essencialmente Cinematográfico: o Sonoro e o InfalívelArtesãos do Som100% (1)
- BRANDÃO, Helena N. Introdução À Análise Do Discurso.Documento64 páginasBRANDÃO, Helena N. Introdução À Análise Do Discurso.ClaudiaAinda não há avaliações
- A origem da fotografia e sua influência na arteDocumento6 páginasA origem da fotografia e sua influência na artejoanammendesAinda não há avaliações
- Páthos e Práxis: Eisenstein versus BarthesDocumento18 páginasPáthos e Práxis: Eisenstein versus BarthesLenz21100% (1)
- Origem Do Drama Seriado ContemporâneoDocumento17 páginasOrigem Do Drama Seriado ContemporâneoMarcel VieiraAinda não há avaliações
- NarracaoDocumento33 páginasNarracaoRicardo DiasAinda não há avaliações
- TCC Crítica Literária 3Documento6 páginasTCC Crítica Literária 3Jonas Souza100% (1)
- A Fixação Da CrençaDocumento23 páginasA Fixação Da CrençaCarlos100% (1)
- TEXTO 04 - Teoria Geral Dos Signos Introduo SEMITICADocumento20 páginasTEXTO 04 - Teoria Geral Dos Signos Introduo SEMITICAMARIA MENDES100% (1)
- Um resgate do olhar na EJA através da arteDocumento22 páginasUm resgate do olhar na EJA através da arteRafael SandimAinda não há avaliações
- O Filme-Ensaio como Forma de Pensamento AudiovisualDocumento13 páginasO Filme-Ensaio como Forma de Pensamento AudiovisualJujardimAinda não há avaliações
- Jean-François Lyotard - O Pós-ModernoDocumento61 páginasJean-François Lyotard - O Pós-Modernojosé geraldo100% (2)
- Gêneros Textuais E O Ensino De Língua PortuguesaNo EverandGêneros Textuais E O Ensino De Língua PortuguesaAinda não há avaliações
- Arte e ResponsabilidadeDocumento1 páginaArte e ResponsabilidadeVanessa Pansani VianaAinda não há avaliações
- Semiótica Da Paixões ResenhaDocumento2 páginasSemiótica Da Paixões Resenhaeder_akadrakeAinda não há avaliações
- Um Documento Chamado RoteiroDocumento33 páginasUm Documento Chamado RoteiroFlávio MachadoAinda não há avaliações
- O olhar e a cena: Melodrama, Hollywood, Cinema Novo e Nelson RodriguesDocumento185 páginasO olhar e a cena: Melodrama, Hollywood, Cinema Novo e Nelson RodriguesMarta Nehring100% (1)
- A maestria do espaço no Faust de MurnauDocumento12 páginasA maestria do espaço no Faust de MurnauAndré AlexandreAinda não há avaliações
- AGAMBEN, Giorgio. Ideia Da ProsaDocumento66 páginasAGAMBEN, Giorgio. Ideia Da ProsaJosé Carlos DiasAinda não há avaliações
- Várias tessituras: Personagens marginalizados da literaturaNo EverandVárias tessituras: Personagens marginalizados da literaturaAinda não há avaliações
- O Roteirista Profissional: Televisão e Cinema. Marcos Rey.Documento121 páginasO Roteirista Profissional: Televisão e Cinema. Marcos Rey.Carlos TenreiroAinda não há avaliações
- (Notas) FOUCAULT. A Cena Da FilosofiaDocumento9 páginas(Notas) FOUCAULT. A Cena Da FilosofiaGli Stronzi BambiniAinda não há avaliações
- O Narrador Invisível - Maicon TenfenDocumento4 páginasO Narrador Invisível - Maicon TenfenAyumi TeruyaAinda não há avaliações
- Relações Da Poesia Com o Cinema: Argumentos para Filmes de Fernando PessoaDocumento14 páginasRelações Da Poesia Com o Cinema: Argumentos para Filmes de Fernando Pessoacatia_517265641Ainda não há avaliações
- Sangue Limpo - Paulo Eiró PDFDocumento138 páginasSangue Limpo - Paulo Eiró PDFRachel RianeleAinda não há avaliações
- Marta Mendes. Literalidade...Documento11 páginasMarta Mendes. Literalidade...Marta MendesAinda não há avaliações
- Excertos Dos Diários de Virginia Woolf Sobre As OndasDocumento4 páginasExcertos Dos Diários de Virginia Woolf Sobre As OndasMarta MendesAinda não há avaliações
- 09 Marta MendesDocumento16 páginas09 Marta Mendesgabriel ramosAinda não há avaliações
- A Caméra-Stylo: Uma Nova Linguagem para o CinemaDocumento4 páginasA Caméra-Stylo: Uma Nova Linguagem para o CinemaMarta MendesAinda não há avaliações
- A Ultima Entrevista Do Herege: Entrevistas Com Jean DuflotDocumento117 páginasA Ultima Entrevista Do Herege: Entrevistas Com Jean DuflotMarta MendesAinda não há avaliações
- Deleuze, Gilles, Espinosa e o Problema Da Expressão - ExcertoDocumento2 páginasDeleuze, Gilles, Espinosa e o Problema Da Expressão - ExcertoMarta MendesAinda não há avaliações
- Marta Mendes. Literalidade...Documento11 páginasMarta Mendes. Literalidade...Marta MendesAinda não há avaliações
- Do Belo Como Constituinte Do Humano Segundo Sócrates/diotimaDocumento100 páginasDo Belo Como Constituinte Do Humano Segundo Sócrates/diotimaMarta MendesAinda não há avaliações
- A Caméra-Stylo: Uma Nova Linguagem para o CinemaDocumento4 páginasA Caméra-Stylo: Uma Nova Linguagem para o CinemaMarta MendesAinda não há avaliações
- Literalidade e ficção como experiência realDocumento10 páginasLiteralidade e ficção como experiência realMarta MendesAinda não há avaliações
- Benjamin, W., Escavar e RecordarDocumento1 páginaBenjamin, W., Escavar e RecordarMarta MendesAinda não há avaliações
- A tradução como forma e representação da relação entre línguasDocumento13 páginasA tradução como forma e representação da relação entre línguasLeonardo MoraisAinda não há avaliações
- Benjamin Narração oralidadeDocumento1 páginaBenjamin Narração oralidadeMarta MendesAinda não há avaliações
- A imagem-nua e as pequenas percepções na arte e comunicaçãoDocumento2 páginasA imagem-nua e as pequenas percepções na arte e comunicaçãoMarta MendesAinda não há avaliações
- Stern, DanielDocumento1 páginaStern, DanielMarta Mendes0% (1)
- Gratinado de Salmão Com Batata DoceDocumento1 páginaGratinado de Salmão Com Batata DoceMarta MendesAinda não há avaliações
- LIVRO BAKHTIN Estetica Criacao VerbalDocumento230 páginasLIVRO BAKHTIN Estetica Criacao Verbalguimagranato100% (15)
- Ao Sair Do Cinema (Excerto)Documento1 páginaAo Sair Do Cinema (Excerto)Marta MendesAinda não há avaliações
- João Barrento, O Que Significa "Moderno"?Documento12 páginasJoão Barrento, O Que Significa "Moderno"?Marta MendesAinda não há avaliações
- Karl Popper, o filósofo da ciênciaDocumento5 páginasKarl Popper, o filósofo da ciêncialex-fsAinda não há avaliações
- Problema Urbano de Luanda: A Questão Do Lixo Na Capital AngolanaDocumento7 páginasProblema Urbano de Luanda: A Questão Do Lixo Na Capital AngolanaSaidi CalalaAinda não há avaliações
- Sistema Da OrdoDocumento13 páginasSistema Da OrdoJoão100% (1)
- Anatomia TireoideeparatireoideDocumento38 páginasAnatomia TireoideeparatireoidethiagomedruasAinda não há avaliações
- Prova de HistoriaDocumento2 páginasProva de HistoriaBruna SantanaAinda não há avaliações
- Crimes em Especie Unidade 3Documento16 páginasCrimes em Especie Unidade 3clichardson hipolitoAinda não há avaliações
- 2o Encontro Regional História MídiaDocumento981 páginas2o Encontro Regional História MídiaRodrigoAinda não há avaliações
- Direito a 1/3 hora-atividade para todos os profissionais da educaçãoDocumento7 páginasDireito a 1/3 hora-atividade para todos os profissionais da educaçãoTiago TondinelliAinda não há avaliações
- Cronograma Construção de Rampa para Balança RodoviáriaDocumento1 páginaCronograma Construção de Rampa para Balança RodoviáriaDilson JuniorAinda não há avaliações
- Bojana Cvejić - Notas para Uma Sociedade Da Performance - Sobre Dança, Esportes, Museus e Seus UsosDocumento17 páginasBojana Cvejić - Notas para Uma Sociedade Da Performance - Sobre Dança, Esportes, Museus e Seus UsosJbrt OueAinda não há avaliações
- Dark Wood 011102033Documento90 páginasDark Wood 011102033jandersondtdAinda não há avaliações
- IPAPPI SISTEMA GRISA - Paranormalidade Um Potencial MentalDocumento13 páginasIPAPPI SISTEMA GRISA - Paranormalidade Um Potencial MentalSandro Zoleti50% (2)
- Nema11 Manual U1 Res PDFDocumento59 páginasNema11 Manual U1 Res PDFJaime FonsecaAinda não há avaliações
- Tratamentos térmicos em aço médio carbonoDocumento26 páginasTratamentos térmicos em aço médio carbonoLorena MeloAinda não há avaliações
- Gestão de Custos da Lavanderia HospitalarDocumento34 páginasGestão de Custos da Lavanderia HospitalarDuan Correia100% (1)
- Franquia Barbearia Seu Elias - Menos deDocumento21 páginasFranquia Barbearia Seu Elias - Menos deDaniel RodriguesAinda não há avaliações
- CoragemDocumento196 páginasCoragemJúlia OhlweilerAinda não há avaliações
- Voluntary Product Standard PS 1-19 - PTBRDocumento67 páginasVoluntary Product Standard PS 1-19 - PTBRGisele PaimAinda não há avaliações
- Risoto de Frango - Cozinha TécnicaDocumento3 páginasRisoto de Frango - Cozinha TécnicaCasa CasaAinda não há avaliações
- Vim20 Ti P339 07 PortuguesDocumento9 páginasVim20 Ti P339 07 PortuguesAndreAinda não há avaliações
- Templates de referência para planejamento de projetos de investimentoDocumento32 páginasTemplates de referência para planejamento de projetos de investimentoeu0% (1)
- Curso de Piano - Prefácio e Visão das TeclasDocumento1 páginaCurso de Piano - Prefácio e Visão das TeclasAmanda PizolAinda não há avaliações
- Manual de Plantas ComestiveisDocumento15 páginasManual de Plantas ComestiveisElieser SantosAinda não há avaliações
- Cartilha Informativa - Síndrome de BurnoutDocumento10 páginasCartilha Informativa - Síndrome de BurnoutIsabela SouzaAinda não há avaliações
- Formação Coroinhas Jesus de NazaréDocumento56 páginasFormação Coroinhas Jesus de NazaréMaria I C Prata80% (5)
- Aula2 MhsDocumento24 páginasAula2 MhsFelipe MorganAinda não há avaliações
- O Livro Sem Título de Um Autor Sem Nome - Dr. Jorge AdoumDocumento58 páginasO Livro Sem Título de Um Autor Sem Nome - Dr. Jorge AdoumValeria Ribeiro100% (1)
- As quatro sugestões para mudançaDocumento3 páginasAs quatro sugestões para mudançaRegina CoeliAinda não há avaliações
- Segunda Via - Processo 2340042454Documento1 páginaSegunda Via - Processo 2340042454solucaoparaestriaAinda não há avaliações
- A importância da psicomotricidade no desenvolvimento infantilDocumento52 páginasA importância da psicomotricidade no desenvolvimento infantilSandro Farias100% (4)