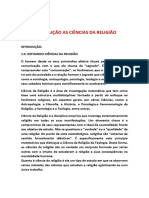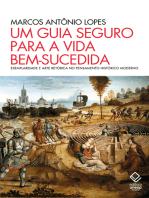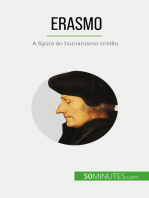Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
26474-Texto Do Artigo-105287-1-10-20190531 PDF
26474-Texto Do Artigo-105287-1-10-20190531 PDF
Enviado por
Isabel GomesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
26474-Texto Do Artigo-105287-1-10-20190531 PDF
26474-Texto Do Artigo-105287-1-10-20190531 PDF
Enviado por
Isabel GomesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
- Revista dos Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião - UFJF
Resenha do livro O peregrino e o convertido – a religião em
movimento 1
Reinaldo da Silva Júnior 2
[reipsi@yahoo.com.br]
A autora introduz sua tese com uma parábola: aponta para os Pirineus, nos
vales de Andorra, demonstrando a centralidade da igreja para a comunidade em tempos
passados, contrastando com a paisagem contemporânea, onde predominam as lojas e o
turismo de pessoas ávidas em consumir. Neste novo ambiente social desponta uma
“nova catedral”:
O ‘centro termolúdico’ que abriga, na verdade, a ‘catedral de aço e de cristal’, com
suas piscinas quentes e frias, seus banhos egípcios, suas banheiras borbulhantes,
suas saunas e suas salas de musculação, é com certeza, em certo sentido, um lugar
de culto: o culto do corpo, da forma física, da juventude permanentemente
preservada, da saúde e da satisfação pessoal (2008, p. 16-17).
Esta parábola exemplifica o dilema da sociologia contemporânea, que precisa
definir se a evidência da religião em seu pleno sentido decreta sua morte ou seu
desaparecimento, enquanto, por outro lado, precisa encontrar um lugar para encaixar as
manifestações atuais da crença e práticas rituais. Na visão da autora faltam instrumentos
para esta análise, o que faz com que as mesmas se concentrem nos aspectos mais
espetaculares e superficiais do fenômeno.
Hervieu-Léger lembra que esta situação acaba sendo um legado de uma época
onde a sociologia estava atrelada a um modelo epistemológico que tinha o empenho em
“reduzir a religiosidade ao conjunto de determinações sociais da religião” (2008, p. 19),
partindo do pressuposto de que as sociedades se organizam a partir de um centro. Para
legitimar o discurso sociológico para a religião era preciso confirmar seu
desaparecimento como esta referência central na organização social.
Foi preciso, então, um novo direcionamento nos estudos. Dois aspectos foram
ressaltados: a dispersão das crenças e condutas e a desregulação institucional; tirando-se
o foco do desencantamento racional da religião pode-se observar o fenômeno da
decomposição e recomposição das crenças. O problema que emergia com esta nova
1
HERVIEU-LÉGER, Daniele. O peregrino e o convertido – a religião em movimento. Petrópolis: Vozes,
2008.
2
Mestre em Ciência da Religião pela UFJF.
Sacrilegens,Juiz de Fora,v6,n1, p.118-130,2009-Reinaldo Jr- http://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2010/04/6-10.pdf118
- Revista dos Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião - UFJF
postura era: “é possível reconhecer a pluralidade e a singularidade dos arranjos do crer
na Modernidade sem abrir mão, todavia, de tornar inteligível o fato religioso como tal?”
(2008, p. 22).
A autora, então, procura definir claramente o papel da sociologia neste
percurso e sua primeira distinção é com a fenomenologia, deixando claro que a
sociologia não tem a intenção de isolar a essência da religião, se concentrando em
observar os inesgotáveis fatos que a ela se apresentam de maneira dinâmica. É preciso,
no entanto, perceber a proximidade metodológica que parte da observação do fenômeno
em si, buscando limpar dele aquilo que não diz respeito ao mesmo. É neste sentido que
se percebe o religioso como uma dimensão transversal do fenômeno humano. Acontece
que na Modernidade houve uma cristalização desta dimensão religiosa, fazendo com
que a mesma se diferenciasse e se afastasse de outras dimensões como a política, a
ética, a cultural, a familiar, etc.
O que se tem são dois cenários bem distintos: o tradicional, onde a religião se
confunde com a cultura; e a alta Modernidade que apresenta uma religiosidade flutuante
que não se adequa a sistemas religiosos estruturados no antigo modelo. Neste sentido é
preciso entender que a secularização não deve ser confundida com um processo de
encolhimento da esfera religiosa, pois ela – secularização - também é responsável pela
disseminação do fenômeno de crenças que nos impõe a idéia das religiões à la carte.
Seguindo esta nova abordagem a autora procura, então, demarcar a
compreensão do que seria o objeto religioso propriamente dito. Sua linha de
pensamento aponta para o fato de que “qualquer que seja a crença, ela pode ser objeto
de uma formulação religiosa, desde que encontre sua legitimidade na invocação à
autoridade de uma tradição” (2008, p. 26). É possível, então, segundo a autora, crer em
Deus de maneira não religiosa; o que dá o status de religioso à crença é a lógica do
desenvolvimento, sendo necessário uma memória de grupo constituindo, assim, uma
linhagem dos que crêem.
A hipótese que orienta este olhar – já explorado pela autora em seu livro La
religion pour memoire – é que nenhuma sociedade sobrevive sem preservar um traço
mínimo de continuidade, e é esta condição que permite “analisar algumas das
modalidades de ativação, da reativação, da invenção ou da reinvenção de um imaginário
Sacrilegens,Juiz de Fora,v6,n1, p.118-130,2009-Reinaldo Jr- http://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2010/04/6-10.pdf119
- Revista dos Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião - UFJF
religioso de continuidade, em nossas sociedades chamadas pós-modernas” (2008, p.
27).
Os elementos que compõe este novo cenário religioso são a difusão de um crer
individualista, a disjunção das crenças e das pertenças confessionais, pela falta de
capacidade de regulação dos aparatos institucionais e de uma efervescência de grupos e
redes comunitárias onde os indivíduos dividem suas experiências pessoais.
A discussão, então, se dirige para a Modernidade. A autora aponta como
primeira característica desta época a primazia da razão à frente de todas as ações
humanas. Temos aí um primeiro impasse posto pelo modelo científico que deveria, a
princípio, dissipar a “ignorância geradora de crenças e de comportamentos irracionais”
(2008, p. 31), mas que provoca, ela mesma, “novas interrogações sempre susceptíveis
de constituir novos focos de irracionalidade” (2008, p. 32). Mesmo não conseguindo se
impor a todos os registros da vida social, a razão continua demarcando a referência que
mobiliza a sociedade.
Este paradigma de racionalidade funda um tipo particular de relação com o
mundo, que pode ser descrita como uma relação de autonomia do sujeito, que se põe na
posição de construtor de seu próprio mundo.
Mas, Hervieu-Léger nos lembra que tanto o modelo tradicional – onde o
código de sentido é imposto do exterior e tem um caráter universal – quanto o da
Modernidade – onde o ser humano é colocado como produtor de sua história – são
modelos “puros” e, portanto, fictícios. Esta contradição, no entanto, aponta para o que a
autora destaca como o “traço mais fundamental da Modernidade, que é aquele que
marca a cisão com o mundo da tradição: a afirmação segundo a qual o homem é
legislador de sua própria vida” (2008, p. 32-33).
Para concluir a definição de Modernidade é preciso lembrar que esta inaugura a
diferenciação das instituições, fazendo com que cada uma ocupe um espaço reservado
onde não existe a interferência das outras. Isto é o que se chama laicização da
sociedade, movimento onde a vida social deixa de ser governada por regras ditadas por
uma instituição religiosa. É importante ressaltar que nas sociedades tradicionais não
havia, tão pouco, uma hegemonia das leis religiosas, estando elas a todo momento
sendo infringidas numa dinâmica de transformação da sociedade no tempo. O que se
mostra próprio da Modernidade é o fato de que a pretensão deste governo do religioso
Sacrilegens,Juiz de Fora,v6,n1, p.118-130,2009-Reinaldo Jr- http://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2010/04/6-10.pdf120
- Revista dos Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião - UFJF
sobre toda a sociedade perde sua legitimidade até mesmo para o crente mais fervoroso.
Um dos desdobramentos desta distinção é a separação das esferas pública e privada.
Hervieu-Léger se reporta, então, a Max Weber e seu clássico sobre a influência
protestante no capitalismo, mas estende esta análise weberiana entendendo que a
influência, na verdade não é apenas do protestantismo, mas da cultura judaico-cristã e
afirma: “Esta concepção religiosa de uma fé pessoal é uma peça mestra neste universo
de representação de onde emergiu, progressivamente, a figura moderna do indivíduo,
sujeito autônomo que governa sua própria vida” (2008, p. 37).
A partir da constatação da influência judaico-cristã na construção da concepção
de mundo secular, Hervieu-Léger formula quatro proposições:
1. A Modernidade e a emancipação do ser humano enquanto sujeito produtor de
sua história se dá a partir do desmoronamento da religião;
2. a forma como se concebe a história na Modernidade guarda as mesmas
características do pensamento religioso que esta se propõe a rejeitar, ou seja, o
princípio escatológico de uma realização utópica;
3. mesmo com o abalo sofrido pelas grandes guerras e depressões econômicas, os
princípios da racionalidade e do progresso tecnológico continuam norteando a
vida nos tempos atuais;
4. esta esperança de que o progresso tecnológico poderá, um dia, resolver os
problemas humanos cria o paradoxo da Modernidade.
Para a autora este paradoxo, que causa uma tensão entre as contradições do
presente e a expectativa de um futuro melhor se torna um terreno fértil para a
emergência de novos tipos de religiosidades – que ela chama de religiões seculares –
que procuram superar esta tensão, como exemplo aponta as “religiões políticas,
religiões da ciência e da técnica, religião da produção, etc.” (2008, p. 40).
Também as religiões tradicionais ganham força em períodos de turbulência
como os dos tempos atuais, sob novas formas e modelos elas se tornam o espaço para os
“protestos simbólicos contra o não-senso” (2008, p. 40). O que acontece não é um
retorno à antiga ordem, mas sim a emergência do paradoxo moderno que faz, por um
lado, com que as explicações religiosas tradicionais percam seu sentido global e, por
outro, que surjam novas formas de manifestação da crença a partir da perspectiva
utópica e da opacidade do presente. O que temos, portanto, não é uma indiferença à
Sacrilegens,Juiz de Fora,v6,n1, p.118-130,2009-Reinaldo Jr- http://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2010/04/6-10.pdf121
- Revista dos Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião - UFJF
crença, mas seu desprendimento do controle das instituições religiosas, provocando uma
individualização e uma subjetivação desta.
A ruptura entre o crer e o agir na sociedade foi o primeiro passo nessa perda do
poder das instituições, mas o fato decisivo neste processo foi a liberdade que as pessoas
alcançaram na construção de seus sistemas de fé. Neste arranjo particular da crença se
estabelece o fenômeno da bricolagem, que faz com que as barreiras confessionais entre
católicos e não-católicos fiquem mais porosas, e até mesmo entre os que se dizem não-
religiosos e os religiosos.
A bricolagem ganha contornos conforme o meio cultural, as classes sociais e as
disposições internas dos indivíduos. Por um lado vê-se uma tendência mais
intelectualizada e metafórica, utilizada pelos teólogos para garantir a credibilidade das
tradições confessionais; por outro lado temos uma tendência de fugir deste universo
racional, procurando uma simbologização da crença, mais comuns nas camadas mais
populares. Uma característica deste cenário é a “afinidade paradoxal das crenças
flutuantes contemporâneas de caráter mágico com o mito moderno do poder das
técnicas” (2008, p. 49).
É preciso, então, constatar que neste novo cenário onde a autonomia do sujeito
e a aceleração das mudanças sociais e culturais são a regra, as instituições religiosas não
podem mais oferecer um código unificado de sentido, nem tão pouco reinvidicar
autoridade sobre as normas de conduta. Isto não significa que o ser humano tenha aberto
mão de se expressar coletivamente, o que ocorre é que este interesse de agrupamento
não é mais fruto da continuidade tradicional e sim aparece como interesse voluntário e
pessoal. Neste sentido não devemos pensar que as instituições tradicionais não tem mais
com o que contribuir na formação das identidades sociais. O que se verifica é até
mesmo uma reativação destas identidades confessionais, motivadas pelo pluralismo e
pelo relativismo, que faz com que as pessoas se sintam mais vulneráveis e necessitadas
de uma referência, mas esta não se coloca mais em relação ao conteúdo da fé.
Um viés deste panorama ocidental é a ‘homogeneização espiritual ética”, onde
um “ecumenismo de valores” ganha espaço abafando qualquer referência transcendente;
um outro aspecto é a tendência inversa a esta demanda comunitária. Esta é, mais uma
vez, uma manifestação da contradição moderna que de um lado coloca o indivíduo e
Sacrilegens,Juiz de Fora,v6,n1, p.118-130,2009-Reinaldo Jr- http://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2010/04/6-10.pdf122
- Revista dos Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião - UFJF
suas necessidades de autonomia e liberdade e de outro o sentimento de pertença coletiva
“indispensável à regulamentação das sociedades pluralistas” (2008, p. 55).
Partindo do pressuposto de que a “transmissão regular das instituições e dos
valores de uma geração a outra é, para toda a sociedade, a condição de sua
sobrevivência no tempo” (2008, p. 57) e, reforçando que continuidade não significa
imutabilidade, a autora inicia a reflexão sobre o fim das identidades religiosas herdadas.
Hervieu-Léger destaca que toda transmissão implica numa adaptação, um ajustamento
necessário aos novos dados da vida social que se apresenta a seu tempo, mas aponta
para o fato de que esta lacuna que se abre entre as gerações no tempo atual já não são
apenas detalhes e sim marcas profundas na identidade cultural que desnudam uma
ruptura na continuidade; ela ainda identifica na família um espaço privilegiado de
expressão desta ruptura de valores. O que temos hoje como referência para as
instituições – principalmente a familiar e a educacional – é a idéia de um caráter
evolutivo das identidades superando a idéia da reprodução social.
Esta mutação social, no caso das instituições religiosas, tem o agravante de
atingir algo que está na “gênese de sua existência, a saber, a continuidade da memória
que as funda” (2008, p. 61). Nas sociedades tradicionais esta memória coletiva já está
dada como parte de um corpo mítico que explica não só a criação do mundo como a do
próprio povo. Já nas sociedades onde as religiões são fundadas a todo instante e o que
prevalece são as comunidades de fé, esta memória coletiva precisa de reelaboração
permanente “de tal sorte que o passado inaugurado pelo acontecimento histórico da
fundação possa ser identificado a todo momento como uma totalidade significativa”
(2008, p. 61). Neste contexto ganham singular importância os ritos.
É possível afirmar que o nó desta crise de transmissão está nesta íntima relação
entre religião e memória, visto que as sociedades contemporâneas são regidas pelo
paradigma da imediatez e serem, por isso, cada vez menos sociedades de memória. Este
processo, levado ao seu limite nos tempos atuais, produziram um esfacelamento da
memória coletiva e uma conseqüente incapacidade destas sociedades de pensarem sua
continuidade e de representarem seu porvir. O problema maior, portanto, não é a sua
condição de sociedade racional que afasta a Modernidade da religião, mas sua
característica amnésica que lhe deixa carente de uma memória coletiva que produz o
sentido para o presente e a orientação para o futuro.
Sacrilegens,Juiz de Fora,v6,n1, p.118-130,2009-Reinaldo Jr- http://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2010/04/6-10.pdf123
- Revista dos Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião - UFJF
“Os crentes modernos reivindicam seu direito de bricolar, e, ao mesmo tempo,
o de escolher sua crença” (2008, p. 64), são forçados, por isso, a “produzir por si
mesmos a relação com a linhagem da crença na qual eles se reconhecem” (2008, p. 64).
O que temos, então, é o fato de que as identidades religiosas não são mais herdadas,
fazendo agora parte de uma “trajetória de identificação” que se dá ao longo do tempo.
Portanto, uma análise profunda da relação do ser humano com uma linhagem de crença
só é possível quando articulamos três elementos: a dinâmica interna do crer, as
interferências externas ligadas às instituições de socialização e o ambiente móvel onde
se dá o processo.
Hervieu-Léger define, então, quatro dimensões de identificação religiosa que
se combinam nos tempos atuais na construção desta identidade da crença subjetiva: “A
primeira é a dimensão comunitária. Ela representa o conjunto das marcas sociais e
simbólicas que definem as fronteiras do grupo religioso e permitem distinguir ‘aqueles
que são do grupo daqueles que não são” (2008, p. 66).
A segunda seria a dimensão ética, que diz respeito à “aceitação por parte do
indivíduo dos valores ligados à mensagem religiosa trazida pela tradição particular”
(2008, p. 66), quer seja ligada às religiões tradicionais ou aos novos movimentos
religiosos. A terceira é a dimensão cultural, que diz respeito ao patrimônio cultural
(ritos, mitos, símbolos, doutrina...) de uma tradição assumida, sem que isso seja uma
imposição a um comportamento ético específico. A quarta é a dimensão emocional,
“que diz respeito à experiência afetiva associada à identificação” (2008, p. 67).
Geralmente, segundo a autora, é a instituição que media estas dimensões, mantendo o
equilíbrio entre lógicas a princípio contraditórias.
É possível ressaltar duas grandes tensões provenientes desta relação
contraditória: “a primeira tensão é a que se estabelece entre as dimensões comunitária e
ética” (2008, p. 68). Por um lado têm-se uma ética posta como universal e por outro a
pretensão de uma condição de eleição e separação do grupo que assume esta ética em
detrimento dos outros. A outra é a causada pela dimensão cultural e a dimensão
emocional.
Um aspecto a ser considerado na cartografia da trajetória da identificação é a
facilidade da saída da religião. É preciso, então, perceber as diversas modalidades que
esta saída pode assumir. É preciso esclarecer que este afastamento pode coexistir com a
Sacrilegens,Juiz de Fora,v6,n1, p.118-130,2009-Reinaldo Jr- http://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2010/04/6-10.pdf124
- Revista dos Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião - UFJF
preservação das adesões (comunitária, ética, cultural e emocional), que vão servir como
elementos para a reorganização identitária do indivíduo, ou seja, “esta trajetória
individual não se diversifica ao infinito mas pertence a lógicas que correspondem a
diferentes combinações que traçam no próprio seio da cada tradição, uma constelação
de identidades religiosas possíveis” (2008, p. 74).
A autora, então, propõe delimitar seu estudo aos modelos de identificação –
seis ao todo. “Esses tipos se definem quando duas das dimensões se articulam para
formar um eixo de identificação privilegiado, fazendo com que as demais dimensões da
identidade religiosa girem ao seu redor quais ‘satélites’, digamos” (2008, p. 74). O
primeiro tipo seria os representados pelos jovens que participaram das Jornadas
Mundiais da juventude; uma manifestação de um “cristianismo afetivo”.
O segundo tipo seria referenciado pelo eixo cultural e comunitário e cria o que
Hervieu-Léger chama de cristianismo patrimonial, que nos seus extremos faz uma
separação radical dos que pertencem ao grupo que detém uma herança cultural dos
outros que estão fora.
O terceiro tipo está sustentado no eixo emocional-ético, apresentando um
cristianismo humanista que grita contra a injustiça social e trabalha em prol dos
excluídos. Uma modalidade que se confunde com esta é o cristianismo político, que gira
em torno do eixo comunitário-ético e tem como característica o envolvimento coletivo
em causas públicas.
O quinto tipo se apresenta na conjugação das dimensões cultural e ética. É o
tipo que permite a experiência individual da fé, não necessitando da mediação de uma
coletividade. O último tipo elencado pela autora envolve a articulação das dimensões
cultural e emocional, produzindo uma devoção de apreciação patrimonial, dos lugares
que contam a história religiosa na qual o crente se identifica.
O ponto essencial, neste percurso, é lembrar que, uma vez que se trabalha com
trajetórias, nunca se está lidando com identidades substantivadas e estabilizadas: o
problema está, precisamente, em munir-se de um instrumental suficientemente
flexível para balizar as etapas de um processo que, por definição, não poderia ser
enquadrado dentro de uma descrição definitiva. A religiosidade das sociedades
modernas está em movimento: é este movimento que se precisa conseguir identificar
(2008, p. 80).
Esta idéia de uma religiosidade em movimento traz, segundo a autora, algumas
dificuldades na identificação do religioso. Tal entrave está na figura do praticante, tido
Sacrilegens,Juiz de Fora,v6,n1, p.118-130,2009-Reinaldo Jr- http://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2010/04/6-10.pdf125
- Revista dos Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião - UFJF
como o modelo de medida para a definição da paisagem religiosa. Só que este modelo
não dá conta de “medir a intensidade da crença: sabe-se muito bem que existem crentes
não praticantes” (2008, p. 81).
O que deu força a esta figura do praticante foram duas tensões específicas: a
primeira intraconfessional e diz respeito aos praticantes irregulares e os não praticantes;
a segunda extraconfessional e atinge a relação com os sem religião e os praticantes de
outras denominações.
Contudo, com a diminuição da prática religiosa, a mobilidade das pertenças, a
desterritorialização das comunidades, a desregulação dos procedimentos de transmissão
religiosa e a individualização das formas de identidade, é preciso confrontar esta idéia
do praticante regular, mesmo sendo ela, ainda, a figura emblemática na definição do
religioso sendo, inclusive, utilizada pelas instituições para identificar o núcleo duro de
fiéis. Mas esta figura muda de sentido: não mais se vincula à concepção da obrigação
institucional, mas se “organiza nos termos do imperativo interior, da necessidade e da
escolha pessoal” (2008, p. 86).
Além destas mutações na configuração do conceito de praticante, a visão
clássica do praticante regular fica ainda mais debilitada quando confrontada com um
universo para além do cristianismo e se vê à frente da diversificação das crenças e a
autonomia destas em relação ao corpo de doutrinas institucionais e a distância que
separa a crença da pertença. Nesta condição, a autora propõe duas novas representações
para a identificação deste religioso em movimento: o peregrino e o convertido.
Começando a falar do peregrino, Hervieu-Léger lembra que esta não é uma
forma recente, mas se encontra nas manifestações mais antigas da religião, podendo ser
entendida como uma expressão perene da sociabilidade religiosa. Dois aspectos fazem
desta uma figura típica do religioso: a sua indicação (ou identificação?) metafórica com
as buscas espirituais que cada indivíduo empreende e sua idéia de uma sociabilidade
religiosa em expansão. É preciso ressaltar que a identidade religiosa é conseqüência do
encontro da construção biográfica subjetiva com a objetividade da linhagem de crença,
o que vem acontecendo frequentemente com as “operações de bricolagem que permitem
ao indivíduo ajustar suas crenças aos dados de sua própria experiência” (2008, p. 89).
O peregrino, portanto, “se caracteriza, antes de tudo, pela fluidez dos
conteúdos de crença que elabora, ao mesmo tempo que pela incerteza das pertenças
Sacrilegens,Juiz de Fora,v6,n1, p.118-130,2009-Reinaldo Jr- http://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2010/04/6-10.pdf126
- Revista dos Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião - UFJF
comunitárias às quais pode dar lugar” (2008, p. 89-90). Para exemplificar esta
personagem Hervieu-Léger se remete à comunidade de Taizé, que fica nas colinas de
Borgonha e foi fundada na década de 70. Neste espaço é possível presenciar a
harmônica relação entre a liberdade da expressão da fé e a regulamentação de práticas
que nos leva a perceber a dialética da personificação e da planetarização. A autora
compara esta formação de rede sem a implicação formal de adesão a uma tradição e a
tolerância com a diversidade com o “tipo místico” de Ernest Troeltsh.
Existem duas características próprias desta utopia experienciada em Taizé: a
primeira é a reafirmação do ideal escatológico e está ligada à presença permanente dos
monges que criam um estilo de vida que aponta para uma radicalidade extramundana. A
segunda é a visão compartilhada pelos jovens que (ou de?) um mundo onde prevaleça a
harmonia e se possa realizar a utopia de viver sua individualidade na unidade do Todo.
O que a experiência de Taizé permite é “transcender emocionalmente a extrema
diversidade dos participantes (diversidade cuja manifestação mais imediata é a
pluralidade lingüística) e enraizar esta diversidade em uma tradição crente comum”
(2008, p. 96).
Fazendo uma comparação com a figura do praticante a autora entende que a
principal distinção das duas é o grau de controle institucional presente em uma e em
outra. Esta diferença marca, também, “dois registros nitidamente distintos do tempo e
do espaço religioso”: a primeira (praticante) reporta à estabilidade territorial da
comunidade, enquanto a segunda (peregrino) “remete a uma outra forma de
espacialização do religioso, que é a do percurso que ela traça, dos intinerários que ela
baliza e sobre as quais os indivíduos se movimentam” (2008, p. 99).
A autora, então, levanta a hipótese de que esta religiosidade móvel e
individualizada leva as tradições religiosas – e aí não apenas os cristãos – a criarem
formas de sociabilidade peregrina que se ajustem melhor às necessidades
contemporâneas.
Voltando à experiência de Taizé, se vê naquele fenômeno de “assembléias
reunidas pela emoção” uma semelhança com o modelo protestante. O que os difere é
que na forma peregrina não se exige uma adesão precedente a um movimento religioso,
sendo ela – a peregrinação – uma experiência tipicamente temporária. O interessante é
que exatamente o peregrino que não se define confessionalmente é o que mais se
Sacrilegens,Juiz de Fora,v6,n1, p.118-130,2009-Reinaldo Jr- http://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2010/04/6-10.pdf127
- Revista dos Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião - UFJF
encontra neste tipo de espaço, algo pretendido por todo religioso. É significativo
também ressaltar como a gestão do pluralismo permite a combinação da peregrinação e
do agrupamento emocional. Para encerrar a análise do peregrino a autora afirma que:
“Essa dinâmica de agregação e de dispersão intensifica uma territorialização simbólica
da universalidade católica muito diferente da territorialização estática característica da
civilização paroquial” (2008, p. 105).
Se o peregrino é uma ótima representação da mobilidade, o convertido exprime
de melhor maneira o processo de formação da identidade religiosa neste contexto de
mobilidade. Pode parecer paradoxal que num momento de enfraquecimento do poder
regulador das instituições observe-se uma forte procura pela conversão, mas o fato de
vivermos uma crise das identidades herdadas é que propicia, exatamente, esta busca de
uma identidade que lhe dê segurança, na qual o crente tende a se entregar cada vez mais.
È possível afirmar que este processo de conversão, por mais que expresse um desejo
privado e íntimo do indivíduo, se dá na conjunção das disposições sociais e culturais
com os interesses e aspirações do crente. Da mesma forma elas são inseparáveis da
diferenciação institucional que permite construir uma identidade religiosa a despeito de
uma identidade étnica, nacional ou social.
A figura do convertido não é homogênea, se desdobrando em três modalidades:
“a primeira é a do indivíduo que muda de religião” (2008, p. 109), este modelo
representa uma crítica a uma experiência anterior que não ofereceu ao indivíduo a
intensidade espiritual que ele almejava. A segunda modalidade é a que diz respeito ao
indivíduo que nunca pertenceu a uma confissão e, a partir de uma trajetória pessoal,
acaba se integrando numa comunidade. A terceira modalidade é do indivíduo que de
dentro de uma tradição à qual ele já pertencia, se engaje efetivamente na comunidade de
fé. Em todas as modalidades uma característica do convertido é fazer de sua conversão
uma entrada numa nova vida, refazendo assim suas convicções ética(s), seus hábitos
sociais e espirituais. No caso da conversão de crianças esta radicalidade pode atingir
toda a família, invertendo os papéis da transmissão religiosa.
Um dos pontos que são tocados no processo da conversão interna é o
“questionamento de um regime frágil de pertença religiosa” (2008, p. 113). Mas
também esta é uma figura que está presente em toda história da religião, não sendo,
portanto, uma criação da Modernidade. No entanto, este fenômeno nos nossos dias é
Sacrilegens,Juiz de Fora,v6,n1, p.118-130,2009-Reinaldo Jr- http://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2010/04/6-10.pdf128
- Revista dos Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião - UFJF
“inseparável do enfraquecimento dos dispositivos de socialização religiosa” (2008, p.
115). Alem disso deve ser considerado que o convertido reflete uma máxima da
Modernidade religiosa: de que a identidade religiosa deve ser escolhida. A conversão,
neste sentido, é um eficiente instrumento para a construção de si, num mundo de
“identidades plurais e em que nenhum princípio central organiza mais a experiência
individual e social” (2008, p. 116).
Nesta construção da identidade do convertido experiências de iluminação não
são a tônica. O que se nota é que prevalece, por trás da narrativa comum, “uma
interessante distribuição das trajetórias individuais em dois conjuntos nitidamente
diferenciados. O primeiro é aquele das conversões cotadas como última etapa de um
longo caminho errante... O segundo é aquele dos relatos de descoberta da ‘verdadeira
vida’” (2008, p. 118).
Fazendo uma correlação entre as dimensões de identidade (comunitária,
cultural, ética e emocional) e os tipos de percurso da conversão, podemos visualizar a
identidade de cada um: “a primeira se forma articulando principalmente as dimensões
comunitária e emocional... A segunda associa a dimensão ética do cristianismo (os
valores evangélicos) à sua dimensão cultural” (2008, p. 119).
Esta distinção pode ser feita também aplicando-se as categorias de classe
social: para o percurso que leva à conversão do primeiro tipo – identificado pela autora
como o tipo de conversão familiar – se dirige à classes marcadas pela exclusão social;
enquanto a identidade ético-cultural é reservada para a burguesia e intelectuais.
A referência individual de um “guia na fé” e o apoio da comunidade são os
elementos decisivos na conversão do tipo familiar. No caso da experiência mais
individualizada têm-se no desenvolvimento do “budismo francês” um ótimo exemplo de
seu funcionamento. “A característica comum nessas correntes é encontrar no budismo
uma revelação interna ao homem e uma técnica de salvação individual” (2008, p. 124).
A conversão, independente de como se dá, carrega em seu bojo o processo de
individualização característico da Modernidade, alem de desempenhar a função
reguladora capaz de reorganizar a vida pessoal em um mundo tão confuso. A
comunidade, assim, ganha o sentido de configurar uma “nova ordem mundial que
dependa inteiramente da regeneração espiritual de cada indivíduo, garantida, de facto,
Sacrilegens,Juiz de Fora,v6,n1, p.118-130,2009-Reinaldo Jr- http://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2010/04/6-10.pdf129
- Revista dos Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião - UFJF
por sua integração iniciática dentro do grupo” (2008, p. 124). Esta tônica utópica é bem
assimilada pelas religiões históricas, que acabam atraindo os convertidos.
Existe, porém, um aspecto importante nesta atração:
(...) no universo secularizado das sociedades modernas, a projeção desta alternativa
religiosa na realidade do mundo perdeu o essencial de sua plausibilidade. Desde
então, é o próprio fato da conversão que recobre, de um modo individualizado e
subjetivo, a utopia trazida pela mensagem religiosa (2008, p. 128).
Outro aspecto relevante é o fato de que o fenômeno da conversão nesta
realidade secularizada – a princípio algo bastante improvável – alimenta a idéia de uma
força invisível para além da razão, o que é estranho a um mundo que ignora o poder do
sagrado. O convertido se torna, então, neste mundo secularizado, “o suporte de um
processo de individualização e de subjetivação da utopia religiosa” (2008, p. 131),
parecendo como um exemplo vivo da presença de Deus no mundo e refutando a
máxima de Durkheim de que Deus está cada vez mais distante da terra e dos seres
humanos.
Neste contexto de desregulação institucional e perda de poder religioso sobre a
sociedade, o convertido se apresenta como a prova da autenticidade da escolha pessoal
na construção da identidade religiosa; caminho este que leva o indivíduo a uma
radicalidade religiosa e a formação da religião de voluntários, substituindo a religião de
obrigação. É a partir deste ponto de vista que as comunidades se tornam “lócus
privilegiados de retomada do caminho” (2008, p. 134) ao mesmo tempo o convertido se
torna, para a comunidade, o modelo de crente exemplar que escolhe livremente o seu
caminho.
Sacrilegens,Juiz de Fora,v6,n1, p.118-130,2009-Reinaldo Jr- http://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2010/04/6-10.pdf130
Você também pode gostar
- Qualidade e DefeitosDocumento12 páginasQualidade e DefeitosUGRA HU-UFSAinda não há avaliações
- A Escola Metódica e o Conhecimento Histórico Como ProblemaDocumento6 páginasA Escola Metódica e o Conhecimento Histórico Como ProblemaRenata CarvalhoAinda não há avaliações
- TEMPO - SILVA, Kalina Vanderlei-Dicionário de Conceitos HistóricosDocumento4 páginasTEMPO - SILVA, Kalina Vanderlei-Dicionário de Conceitos HistóricosCristiane AquinoAinda não há avaliações
- Negro Macumba e Fotebol PDFDocumento8 páginasNegro Macumba e Fotebol PDFFta CLAinda não há avaliações
- 1Documento34 páginas1luis serpaAinda não há avaliações
- Bahia: nos Trilhos Da Colônia Leopoldina (História, Educação Básica, Quilombo, Currículo)No EverandBahia: nos Trilhos Da Colônia Leopoldina (História, Educação Básica, Quilombo, Currículo)Ainda não há avaliações
- Questoes Dissertativas de Introducao A FilosofiaDocumento34 páginasQuestoes Dissertativas de Introducao A Filosofiaflalex75% (4)
- Relatorio de Monitoria (MODELO)Documento4 páginasRelatorio de Monitoria (MODELO)Ricardo Gusmao100% (1)
- Asad, Talal - A Construção Da Religião Como Uma Categoria AntropológicaDocumento22 páginasAsad, Talal - A Construção Da Religião Como Uma Categoria AntropológicaLucas LopesAinda não há avaliações
- A Religião Como Sistema Cultural GeertzDocumento3 páginasA Religião Como Sistema Cultural GeertzNzinga BonneAinda não há avaliações
- Profetas e Místicos em Terra Brasileira: História, Espiritualidade e LutasNo EverandProfetas e Místicos em Terra Brasileira: História, Espiritualidade e LutasAinda não há avaliações
- Mobilidade religiosa: Linguagens, juventude e políticaNo EverandMobilidade religiosa: Linguagens, juventude e políticaAinda não há avaliações
- Trabalho de ANTROPOLOGIA DAS RELIGIÕESDocumento5 páginasTrabalho de ANTROPOLOGIA DAS RELIGIÕESGessica VembaAinda não há avaliações
- Escola Dos Annales e o Conhecimento HistóricoDocumento5 páginasEscola Dos Annales e o Conhecimento HistóricoSabrina RodriguesAinda não há avaliações
- A Importância Dos Estudos em História AntigaDocumento9 páginasA Importância Dos Estudos em História AntigaNatália Rita de AlmeidaAinda não há avaliações
- Antissemitismo Mancha Imagem Do Reformador MartinhDocumento3 páginasAntissemitismo Mancha Imagem Do Reformador MartinhAlex OlivindoAinda não há avaliações
- A Orientalização Do OcidenteDocumento11 páginasA Orientalização Do OcidentePublicadorAinda não há avaliações
- Gurevitch - As Categorias Da Cultura Medieval - Notas de LeituraDocumento15 páginasGurevitch - As Categorias Da Cultura Medieval - Notas de LeiturasofroniscoAinda não há avaliações
- Após A Religião, o Secularismo PDFDocumento13 páginasApós A Religião, o Secularismo PDFAluisio Flavienne Ramos100% (2)
- Trabalho FinalDocumento6 páginasTrabalho FinalAlyne nAinda não há avaliações
- Idade Média Idade Dos Homens Do Amor e Outros Ensaios Georges DubyDocumento218 páginasIdade Média Idade Dos Homens Do Amor e Outros Ensaios Georges DubyTiffany BeatrizAinda não há avaliações
- Raul Fernandes - Reflexões Sobre o Estudo Da Idade MédiaDocumento7 páginasRaul Fernandes - Reflexões Sobre o Estudo Da Idade MédiaCamila Mota FariasAinda não há avaliações
- Historiografia e Seus ParadigmasDocumento6 páginasHistoriografia e Seus ParadigmasFabio MatosAinda não há avaliações
- Feminismo Islamico Uma Proposta em ConstDocumento12 páginasFeminismo Islamico Uma Proposta em Constsophie fer100% (1)
- A Biblia - Karen Armstrong PDFDocumento196 páginasA Biblia - Karen Armstrong PDFurbano-ruralAinda não há avaliações
- A Crise Da Modernidade No Início Do Século XX, Zuin, João Carlos SoaresDocumento24 páginasA Crise Da Modernidade No Início Do Século XX, Zuin, João Carlos SoaresCassio BarbieriAinda não há avaliações
- ANDRADE, S R. O Catolicismo Popular No Brasil: Notas Sobre Um Campo de EstudosDocumento9 páginasANDRADE, S R. O Catolicismo Popular No Brasil: Notas Sobre Um Campo de EstudosJaqpsousaAinda não há avaliações
- Douglas Attila MarcelinoDocumento300 páginasDouglas Attila MarcelinoJ. FerreiraAinda não há avaliações
- Antonio Paim - Trajetoria Da Filosofia No Brasil PDFDocumento14 páginasAntonio Paim - Trajetoria Da Filosofia No Brasil PDFsergioqueirozAinda não há avaliações
- Biografia e História - o Que Mestre Tito - REgina CeliaDocumento24 páginasBiografia e História - o Que Mestre Tito - REgina CeliaGabriela R AmenzoniAinda não há avaliações
- Resenha: A Sociedade Romana - Paul VeyneDocumento5 páginasResenha: A Sociedade Romana - Paul VeynexdalmoxAinda não há avaliações
- Resumo Os Misterios de Mitra Franz CumontDocumento2 páginasResumo Os Misterios de Mitra Franz CumontMilton GrobeAinda não há avaliações
- Fichamento Fustel de CoulangesDocumento5 páginasFichamento Fustel de CoulangesMatheus MedeirosAinda não há avaliações
- 34816-Texto Do Artigo-95078-1-10-20171007Documento26 páginas34816-Texto Do Artigo-95078-1-10-20171007Logan WolfAinda não há avaliações
- Luz Sobre A Idade Mdia RgineDocumento182 páginasLuz Sobre A Idade Mdia RginetaniasampaioAinda não há avaliações
- Historia Igreja Medieval v01 PDFDocumento2 páginasHistoria Igreja Medieval v01 PDFEduardo LimaAinda não há avaliações
- O RenascimentoDocumento3 páginasO RenascimentoFelipe Lordelo100% (1)
- Ecos Do Passado A Idade Média Nos Dias de HojeDocumento2 páginasEcos Do Passado A Idade Média Nos Dias de HojeFelipe Berté Freitas100% (1)
- Lidau, S Matumona 2011Documento2 páginasLidau, S Matumona 2011Inocêncio pascoal100% (1)
- História Moderna IDocumento3 páginasHistória Moderna IRicardo RussellAinda não há avaliações
- Batsikama, Patrício - Será Simão Toko Um Profeta - Uma Leitura Antropológica (2016)Documento48 páginasBatsikama, Patrício - Será Simão Toko Um Profeta - Uma Leitura Antropológica (2016)Pedro Soares100% (1)
- 03 - René Rémond O Seculo XIXDocumento10 páginas03 - René Rémond O Seculo XIXcamila mercesAinda não há avaliações
- A Questão Da Alteridade No Encontro Do Europeu Com o Novo MundoDocumento20 páginasA Questão Da Alteridade No Encontro Do Europeu Com o Novo MundoLara FeriottoAinda não há avaliações
- 1 Antropologia - Da - Religiao PDFDocumento18 páginas1 Antropologia - Da - Religiao PDFYeshua Marmans100% (3)
- M1 - U1 - Estudo Introdutório Às 95 Teses de Martinho Lutero - Espaço Acadêmico - P. 9Documento11 páginasM1 - U1 - Estudo Introdutório Às 95 Teses de Martinho Lutero - Espaço Acadêmico - P. 9Alessandro Martins GomesAinda não há avaliações
- História Medieval e ModernaDocumento120 páginasHistória Medieval e ModernaLorenzo AndresAinda não há avaliações
- Das Sociedades Comunais Ao Modo de Produção FeudalDocumento64 páginasDas Sociedades Comunais Ao Modo de Produção FeudalflordelisclaraAinda não há avaliações
- Conceitos de ReligiaoDocumento1 páginaConceitos de ReligiaoPaulo Roberto Medeiros100% (1)
- Fichamento Sobre História de Eric HobsbawmDocumento6 páginasFichamento Sobre História de Eric HobsbawmJorge Nairo MarquesAinda não há avaliações
- Revisado - A Fé e A Rocha As Igrejas Escavadas de LalibelaDocumento6 páginasRevisado - A Fé e A Rocha As Igrejas Escavadas de LalibelaLuana Maryah BerezaAinda não há avaliações
- A MesquitaDocumento9 páginasA MesquitaDiana TabordaAinda não há avaliações
- Profetismo PDFDocumento4 páginasProfetismo PDFroneyAinda não há avaliações
- Ciência Da ReligiãoDocumento12 páginasCiência Da ReligiãoProfessor Paulo Barcelar100% (1)
- As Formas Africanas de Auto-InscriçãoDocumento6 páginasAs Formas Africanas de Auto-InscriçãojeffAinda não há avaliações
- Paul Ricoeur e A Escrita Da HistóriaDocumento9 páginasPaul Ricoeur e A Escrita Da HistóriaJoachin AzevedoAinda não há avaliações
- RESUMO DA OBRA Asformas Elementares Da Vida ReligiosaDocumento6 páginasRESUMO DA OBRA Asformas Elementares Da Vida ReligiosaRailton TomazAinda não há avaliações
- Historia Antiga Testemunhos e Modelos PDFDocumento1 páginaHistoria Antiga Testemunhos e Modelos PDFSergia SantosAinda não há avaliações
- Um guia seguro para a vida bem-sucedida: Exemplaridade e arte retórica no pensamento histórico modernoNo EverandUm guia seguro para a vida bem-sucedida: Exemplaridade e arte retórica no pensamento histórico modernoAinda não há avaliações
- Luta pela Terra: Pedagogia de Emancipação Humana? experiências de luta da CPT e do MSTNo EverandLuta pela Terra: Pedagogia de Emancipação Humana? experiências de luta da CPT e do MSTAinda não há avaliações
- Vinoth Ramachandra A Falencia Dos Deuses PDFDocumento283 páginasVinoth Ramachandra A Falencia Dos Deuses PDFEden SerranoAinda não há avaliações
- Caderno de Orientaes Do DGP - ATHDocumento18 páginasCaderno de Orientaes Do DGP - ATHviniciusAinda não há avaliações
- CP5 Dentologia EticaDocumento38 páginasCP5 Dentologia EticaJudite Barbosa100% (1)
- Os Bastões de Horus-Valery UvarovDocumento80 páginasOs Bastões de Horus-Valery UvarovRoberto Estevam BenedettiAinda não há avaliações
- Aristóteles-Larissa Sousa 2enferDocumento9 páginasAristóteles-Larissa Sousa 2enferAlisson OliveiraAinda não há avaliações
- Exegese de Romanos 12Documento24 páginasExegese de Romanos 12jose do brasAinda não há avaliações
- Vera Telles Pobreza CidadaniaDocumento14 páginasVera Telles Pobreza CidadaniarodolfoarrudaAinda não há avaliações
- Ética, Indisciplina e Violência Na EscolaDocumento8 páginasÉtica, Indisciplina e Violência Na EscolaHosana FahningAinda não há avaliações
- Ética PastoralDocumento46 páginasÉtica PastoralCarlos AlbertoAinda não há avaliações
- Tecnologia AssistivaDocumento61 páginasTecnologia AssistivaVera verinhaAinda não há avaliações
- ResumoDocumento2 páginasResumoRenata Cristina Lopes AndradeAinda não há avaliações
- Introdução À Ética AmbientalDocumento50 páginasIntrodução À Ética AmbientalRui SáAinda não há avaliações
- Redação Ética MedicinalDocumento1 páginaRedação Ética MedicinalMaria Eduarda MartinsAinda não há avaliações
- Planejamento Saberes e Investigação Da Natureza 02Documento8 páginasPlanejamento Saberes e Investigação Da Natureza 02vanessa.maika100% (1)
- Multieducacao-E.F.-artes Plasticas (Temas em Debate)Documento21 páginasMultieducacao-E.F.-artes Plasticas (Temas em Debate)cristinereisAinda não há avaliações
- 1 Ano T 1 PDFDocumento68 páginas1 Ano T 1 PDFPatricia TeixeiraAinda não há avaliações
- Ética e Relações InterpessoaisDocumento114 páginasÉtica e Relações InterpessoaisSimoni CantoAinda não há avaliações
- A Dualidade Do Conceito de CulturaDocumento4 páginasA Dualidade Do Conceito de CulturaPriscila Vendas E TrocasAinda não há avaliações
- Educação de FilhosDocumento16 páginasEducação de FilhosPedro Quintas QuintasAinda não há avaliações
- 43 de Uma Carta para Michael Tolkien - JRR TolkienDocumento8 páginas43 de Uma Carta para Michael Tolkien - JRR TolkienRodrigo MarinhoAinda não há avaliações
- Prova Enade 2010 PDFDocumento24 páginasProva Enade 2010 PDFMaria Caroline CardosoAinda não há avaliações
- Trabalho de Cp2Documento16 páginasTrabalho de Cp2Didi2003Ainda não há avaliações
- A Prática Da Educação Puritana No Século Xvii.Documento24 páginasA Prática Da Educação Puritana No Século Xvii.Leandro Fernandes100% (2)
- VoceNoMundo Matematica-MVCeditoraDocumento308 páginasVoceNoMundo Matematica-MVCeditoraLuciana BitencourtAinda não há avaliações
- Todos Quiz e Atividades Etica 1Documento8 páginasTodos Quiz e Atividades Etica 1Lusilvia MartinsAinda não há avaliações
- Filosofia Da Educaçao Aula 8Documento12 páginasFilosofia Da Educaçao Aula 8Cecilia ceciliaAinda não há avaliações
- Dissertação Puc XavanteDocumento125 páginasDissertação Puc XavanteMarta GamaAinda não há avaliações