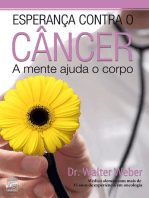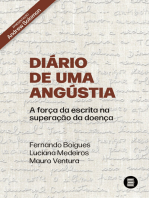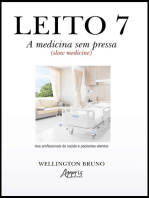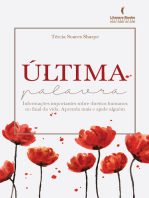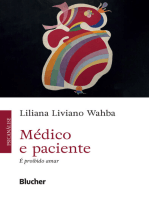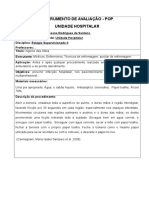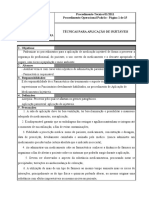Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Robin Cook - Hospital
Enviado por
Anna Gabriela Pessoa0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações163 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
TXT, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato TXT, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações163 páginasRobin Cook - Hospital
Enviado por
Anna Gabriela PessoaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato TXT, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 163
1
ROBIN COOK
HOSPITAL
A PRIMEIRA PALAVRA
Os Americanos mant�m-se fi�is aos seus mitos. Em nenhum lado
� isto t�o evidente como no reino carregado de emo��es que � a
Medicina e os seus servi�os.
As pessoas acreditam naquilo que querem, no que sempre
acreditaram, e ignoram ou desprezam como falso tudo aquilo que
possa amea�ar a reconfortante confian�a nos seus pr�prios m�dicos
ou no tipo de tratamento que possam vir a receber.
Foi apenas recentemente, e com relut�ncia, que a maioria das
pessoas perdeu a presun�osa ideia de que a Medicina nos Estados
Unidos e o seu pessoal eram os melhores do mundo; e mesmo esta
desagrad�vel realidade foi conseguida mais por motivos
econ�micos que pela raz�o em si, mais devido aos elevados custos
dos cuidados m�dicos, do que � qualidade destes.
Mesmo reconhecendo que algo est� errado, Mrs. Brown mant�mse
firme nas suas convic��es de que o seu querido m�dico, que mora
na sua rua, � o melhor da cidade:
- � um homem encantador! E todos os internos, aben�oados
sejam, s�o t�o delicados e atenciosos!
As bases desta admira��o pelo mundo m�dico � algo que reside
no esp�rito do Americano moderno. A sua liga��o com a Medicina �nos
demonstrada dia a dia atrav�s das horas que passa paralisado
em frente ao televisor, observando os diagn�sticos e triunfos
terap�uticos dos seus m�dicos omniscientes.
Esse romantismo, com a sua credibilidade directa, resulta no
entanto, na sua limitada toler�ncia, o que torna extremamente dif�cil
a apresenta��o de ideias contradit�rias. N�o obstante, � essa a
inten��o do presente livro - destruir a mitologia contempor�nea e a
m�stica do ano do internato, e demonstrar o que � uma dura
2
realidade. Os efeitos psicol�gicos de um internato sobre o m�dico
s�o muito profundos. (E sendo assim, imagine-se os efeitos numa
multid�o de pacientes!)
Pe�o fervorosamente ao leitor que avance na leitura sem
preconceitos, pondo de lado o impulso quase irresist�vel de
glorificar a Medicina e os que nela est�o envolvidos, e que tente
compreender os efeitos de um internato na pessoa de um m�dico.
As pessoas que servem a Medicina s�o humanas, assediadas por
uma multid�o de armadilhas - f�ria, ansiedade, hostilidade e
egocentr�smo.
Quando colocadas num ambiente hostil, reagem como seres
humanos, n�o como curandeiros e super-homens. E, apesar das
s�ries de televis�o, o internato, tal como � nos nossos dias, � um
ambiente hostil. (Bastam as noites em branco para explicar uma
s�rie de padr�es de comportamento aberrantes; estudos recentes
demonstraram-nos como � poss�vel para um indiv�duo tornar-se
rapidamente esquizofr�nico se for privado de repouso suficiente.)
Os acontecimentos descritos neste livro s�o todos reais. S�o um
exemplo t�pico - e n�o espor�dico - da vida de um interno. O pr�prio
Dr. Peters � composto de um pouco da minha experi�ncia pessoal e
da de outros colegas internos, tornando-se assim uma am�lgama de
personalidades reais, Embora n�o apresente as aberra��es de uma
personalidade psico-social, � no entanto o representante em geral
do interno.
De tal modo que emerge muitas vezes como sendo um indiv�duo
lamuriento que falha socialmente enquanto evolui
profissionalmente, o que n�o nos deve surpreender. � verdade que
durante o seu internato o Dr. Peters adquire grande conhecimento e
experi�ncia m�dica; mas desenvolve tamb�m uma atitude mais
objectiva perante a morte. Contudo, h� ao mesmo tempo uma
intensidade concomitante na sua revolta e hostilidade reprimidas
que o leva a um maior isolamento e comportamento autista, a fortes
sentimentos de autocompaix�o, e a uma incapacidade para
estabelecer rela��es significativas com os outros.
3
Outros aspectos da pr�tica da Medicina aqui apresentados
pode tamb�m destruir algumas cren�as. Mais uma vez � pedido ao
leitor que leia sem preconceitos, para lembrar que a maior parte da
impessoalidade e anonimato atribu�dos aos pacientes s�o
simplesmente o resultado inevit�vel da familiaridade com as
doen�as humanas.
Essa impessoalidade pode, evidentemente, ser levada a
extremos quando o paciente deixa de ser um indiv�duo e se torna
simplesmente um objecto a ser tratado. Isto � definitivamente
patol�gico. Existe num interno o potencial de chegar a este estado
patol�gico. De facto, � muitas vezes obrigado a lidar com ele - e
geralmente sem orienta��o - como lhe dita a sua natureza.
Uma palavra para poder antecipar um tipo espec�fico de cr�tica:
uma vez que o Dr. Peters fez o internato num hospital escolar, em
vez de num Centro M�dico da Universidade, poder�o alguns dizer
que ila��es tiradas se aplicam apenas a esse ambiente.
Talvez um coment�rio tenha um certo m�rito, mas n�o creio que
reduza validade do argumento central. Pelo contr�rio, a experi�ncia
do Dr. Peters poderia ser ainda mais intensa se se encontrasse no
centro Universit�rio. Existe a� uma enorme competi��o entre
internos, o eterno desejo de ficar � frente do pr�ximo, e, nesse
contexto, o trabalho �rduo e as buscas na literatura m�dica t�m
possibilidades de merecer maior preocupa��o nesse sistema, do
que os pr�prios pacientes.
Penso que as experi�ncias do Dr. Peters se aplicam
essencialmente tanto � universidade como aos programas de ensino
da comunidade. O que lhe aconteceu � justificado por uma
convincente similaridade de incidentes contados por v�rios m�dicos
de cada tipo de internato.
N�o se retrata aqui o tipo de hospital de poucas condi��es,
onde n�o h� ensino. � poss�vel que a cr�tica se possa aplicar nesses
casos.
O manuscrito deste livro foi lido por oito m�dicos, tr�s anos
depois do seu internato. Apenas um discordou do conceito de que o
conte�do do livro era uma realidade aut�ntica e brutal, e que
4
personificava a situa��o deles. O dissidente objectou que os
m�dicos do hospital onde ele estivera interno eram muito mais
interessados que os retratados no livro. Este m�dico estivera como
interno num centro m�dico da universidade em West Coast. Talvez se
possa da� tirar a conclus�o de que todos os novos internos a�
deveriam fazer o internato.
Repito que este livro � real. Pode n�o representar todos os
tipos de internato de um hospital, mas mostra-nos a sua maior
parte. Reflecte honestamente uma condi��o subtil, no m�nimo
desencorajadora, e no m�ximo perigosa. Esta � uma raz�o
suficiente.
D�cimo quinto Dia
CIRURGIA GERAL
J� estava a dormir quando o telefone tocou mais uma vez, meia
hora depois. Atendi-o no final do primeiro toque, esticando o bra�o
instintivamente, quase em p�nico, derrubando o livro de cirurgia que
me fizera adormecer. A enfermeira estava desesperada.
- Dr. Peters, o paciente que esteve a ver h� pouco deixou de
respirar e n�o lhe sinto o pulso.
- Vou j� para a�.
Desliguei desajeitadamente o telefone e comecei a minha
rotina: cal�as, camisa, sapatos, uma corrida pelo corredor para
apanhar elevador enquanto apertava as cal�as. Carreguei no bot�o
e ouvi o gemido agudo do motor el�ctrico. Enquanto esperava com
impaci�ncia compreendi subitamente que n�o sabia a que paciente
a enfermeira se referira. Tinha tantos. Imagens daqueles que havia
visto nessa noite percorreram-me a mente.
Mrs. Takura, Roso, Sperry, e o mais recente, um homem idoso
com um cancro no est�mago. Devia ser ele. Era um doente particular
e a primeira vez que o vira tinha sido quando fora chamado para
lidar com os pacientes novos, e ele tinha tido subitamente uma forte
dor abdominal. Era t�o d�bil e fraco que n�o se podia mover, e
quase n�o conseguiu responder �s perguntas...
5
Tinha apenas escassas informa��es sobre ele. A enfermeira
tamb�m n�o sabia muito. N�o havia qualquer ficha espec�fica, a n�o
ser uma nota breve que dizia que tinha 71 anos e sofria de cancro
g�strico h� cerca de tr�s anos; haviam-lhe retirado o est�mago
cirurgicamente tr�s meses antes. Segundo o gr�fico, havia dado
entrada no hospital, desta vez devido a tonturas dor e mal-estar
geral.
Triturando at� ao fim as suas delibera��es mec�nicas, o
elevador parou e a porta castanha-avermelhada deslizou para
dentro da parede. Entrei, carreguei no bot�o, e esperei
impacientemente que a besta desastrada me levasse ao r�s-doch�o.
O
exame que fiz ao homem n�o me revelou nada que n�o
esperasse. Estava obviamente a sofrer bastante, e tinha uma boa
raz�o. O cancro havia-se espalhado tamb�m pelo abd�men, sem
d�vida. Ap�s ter tentado em v�o contactar o seu m�dico particular
pelo telefone, tinha come�ado simplesmente por lhe aplicar soro e
Demerol para o ajudar a dormir. Foi tudo o que me ocorreu.
O elevador deixou-me, finalmente, no r�s-do-ch�o. Atravessei
rapidamente o p�tio, entrei no edif�cio principal do hospital e subi
pelas escadas traseiras para o andar onde estava o paciente. Assim
que entrei no quarto, deparei com a enfermeira petrificada, sem
saber o que fazer, � luz do candeeiro da cama. O homem estava t�o
magro que as suas costelas sobressa�am no peito; o abd�men fazia
uma cova, abaixo da caixa tor�cica. Estava completamente im�vel e
tinha os olhos fechados.
Observei o seu peito de perto. Estava t�o acostumado a ver os
movimentos provocados por uma respira��o pesada, que os meus
olhos me levaram a pensar que este se movia um pouco, mas n�o;
procurei o pulso. Nada. Mas existem pessoas que t�m o pulso fraco.
Verifiquei se estava a medir a pulsa��o no s�tio certo do pulso, o
lado do polegar, e tentei depois o outro pulso. Nada.
- N�o houve paragem card�aca, Doutor. A enfermeira de turno
disse-me que n�o deveria ser uma paragem card�aca. - A enfermeira
6
parecia estar na defensiva.
"Cala-te", pensei, irritado e aliviado ao mesmo tempo. N�o
estava preocupado em declarar ser uma paragem card�aca. S�
queria ter a certeza absoluta, porque esta era a primeira vez que me
via confrontado com a responsabilidade de declarar a morte. Claro
que tinha havido casos de mortes na escola m�dica, uma s�rie
deles, mas isso fora antes - cerca de um ano, de facto n�o havia
muito tempo -, e nessa altura o pessoal m�dico da casa tinha l�
estado para ajudar, interno ou residente; n�o era, em suma, uma
tarefa de estudante.
Agora eu pertencia ao pessoal m�dico e tinha de tomar a
decis�o - o dever de fazer um julgamento -, pensei nervosamente,
como no basebol, seguro ou fora, e sem d� do �rbitro. Estava morto.
Ou... n�o estaria? Demerol, um homem velho e fraco, anestesia
profunda - a combina��o poderia provocar anima��o suspensa.
Tirei lentamente o meu estetosc�pio, adiando a decis�o, e pus
finalmente os auscultadores nos ouvidos enquanto colocava o
diafragma no lugar do cora��o.
Uma s�rie de ru�dos estaladi�os ecoou aos eus ouvidos
enquanto os seus p�los do peito se moviam por baixo do
estetosc�pio como resposta aos meus tremores. N�o conseguia
ouvir o cora��o - no entanto, poderia? Abafado, e fraco?... A minha
imagina��o sobreaquecida continuava a dar-me o batimento vital,
pr�prio da vida.
Compreendi ent�o que o que ecoava aos meus ouvidos era o
meu pr�prio cora��o. Tentei mais uma vez encontrar a pulsa��o, nos
pulsos, nas virilhas e no pesco�o. Estavam silenciosos, mas, no
entanto, algo me dizia que ele estava vivo, que iria acordar, e eu
seria considerado um incompetente. Como poderia ele estar morto
se hav�amos conversado apenas algumas horas antes? Detestei
estar naquela situa��o. Quem era eu para decidir se o homem
morrera ou n�o? Quem era eu?
A enfermeira e eu entreolh�mo-nos sob a luz do candeeiro.
Estivera de tal modo absorvido nos meus pensamentos que quase
me surpreendi por a ver ainda ali. Ao levantar as p�lpebras do
7
homem, deparei com um par de olhos castanhos, que pareciam
normais se n�o fosse pelo facto de as pupilas n�o dilatarem quando
passei com a lanterna pela parte c�rnea envelhecida. Tive a certeza
de que estava morto; esperava que sim, uma vez que ia pronunci�lo.
- Acho que est� morto - disse, olhando outra vez para a
enfermeira, mas ela afastou o olhar. Provavelmente pensava que eu
era est�pido.
- � a primeira vez que um paciente sob os meus cuidados morre -
disse ela, voltando-se para mim subitamente. As suas m�os ca�am
fl�cidas, impotentes. Finalmente compreendi que ela me implorava
que dissesse alguma coisa sobre o Demerol, que n�o havia sido o
Demerol que ela lhe havia dado. Mas como havia eu de saber o que
o matara? Veio-me � ideia uma cena de um antigo filme de terror
que o corpo se come�a a erguer lentamente de uma gaveta da
morgue.
Come�ava a estar aborrecido comigo mesmo, mas tinha de
tentar ouvir o cora��o mais uma vez. Pus o estetosc�pio. Naquela
noite calma, minha pr�pria respira��o ecoava na minha mente. Est�
morto; a morte, fria e silenciosa, murmuravam os centros racionais
do meu c�rebro. Deveria dizer algo simp�tico � enfermeira. Talvez
"deve ter sido muito suave e sem dor; morreu com dignidade. Tenho
a certeza que lhe est� agradecido pelo Demerol." Agradecido? Que
estranha palavra para dizer.
Aqui estava eu a lutar contra as minhas pr�prias incertezas, mal
conseguindo derrot�-las, e ainda a tentar acalmar outra pessoa.
Lutando com o desejo de lhe tomar mais uma vez o pulso, levantei o
len�ol que o cobria.
- Talvez seja melhor mandar chamar o m�dico particular - disse,
ao sairmos do quarto.
O m�dico particular atendeu t�o rapidamente o telefone que a
sua voz foi como um banho de �gua fria no meu rosto. Disse-lhe
quem e por que lhe estava a ligar.
- Certo, certo. Avise a fam�lia e prepare a aut�psia. Quero
8
verificar o que se passou com a conec��o que fiz entre a bolsa do
est�mago e intestino delgado. Foi uma anastomose feita apenas
com camada de suturas. Acho que esse � realmente o melhor
sistema; � muito mais r�pido. De qualquer modo, o homem foi um
caso curioso, especialmente porque sobreviveu muito mais tempo do
que esper�vamos. Por isso trate-me da aut�psia, certo, Dr. Peters?
- Ok, vou tentar. - Depois desta jovial conversa da parte dele,
voltei a estar ligado ao sil�ncio da minha mente, tentando organizar
os pensamentos. O m�dico particular queria uma aut�psia. �ptimo.
�ptimo mesmo. Onde estava o n�mero da fam�lia? Um bra�o de
mulher veio em meu aux�lio, apontando para uma linha do livro:
- Parente mais pr�ximo: filho. - Era realmente uma situa��o
p�ssima. Um est�pido interno desconhecido a telefonar a meio da
noite, Tentei imaginar uma palavra neutra, que servisse para o
prop�sito sem aquele significado. "Morto... desaparecido... n�o,
falecido." O ru�do do telefone foi interrompido por um "Estou?"
alegre.
- Aqui fala o Dr. Peters, e... lamento inform�-la de que o seu pai
faleceu. - Houve um longo sil�ncio do outro lado; talvez n�o me
tivesse entendido. Algu�m falou.
- J� est�vamos � espera.
- H� mais uma coisa. - A palavra "aut�psia" estava-me na ponta
da l�ngua.
- Sim?
- Bem... n�o importa agora. Falaremos disso mais tarde, mas
queria pedir-lhe que viesse esta noite ao hospital. - Era o que a
enfermeira me havia estado a dizer com uma pantomima agitada.
- Ok, estaremos a�. Obrigado.
- Os meus p�sames e muito obrigado.
Uma enfermeira mais velha materializou-se saindo da escurid�o
do corredor e enfiou uma s�rie de pap�is oficiais debaixo do meu
nariz, indicando-me onde deveria assinar e apontar a hora da
ocorr�ncia.
Perguntei-me quando teria ele morrido: realmente n�o sabia.
- A que horas faleceu ele? - perguntei � rec�m-chegada, que se
9
colocara ao meu lado direito.
- Faleceu no momento em que o declarou morto, Doutor. - Esta
enfermeira, supervisora do turno da noite, era conhecida pela sua
ret�rica mordaz e pela desconfian�a que nutria pelos internos. Mas
nem mesmo o seutom �cido e a sua tro�a �bvia pela minha
ingenuidade podiam apagar a imagem do cad�ver a erguer-se da
gaveta.
- Chamem-me assim que a fam�lia chegar - disse.
- Com certeza, e obrigada.
- Bem, obrigado - respondi. Toda a gente agradecia. No meu
cansa�o, todas estas pequenas coisas se tornavam enormes e
absurdas. O desejo de ir verificar mais uma vez o pulso ainda
estava presente mas, com algum esfor�o, sa� rapidamente do quarto
do homem; as enfermeiras podiam estar a olhar. Por que me
continuava a preocupar com a ideia de ele acordar? E quanto ao
homem como pessoa, isso n�o interessava? Claro que sim, mas n�o
o conhecia. Parei no princ�pio das escadas.
� verdade, n�o o conhecia, mas ele era uma pessoa. Um homem
idoso, de 71 anos, claro, mas ainda assim um homem, um pai, uma
pessoa. Continuei a descer as escadas. N�o podia enganar-me. Se
ele se levantasse agora seria motivo de gozo no hospital. A
confian�a que tinha em ser um m�dico crescia gradualmente; isso
acabaria com ela.
De volta ao elevador, tentei lembrar-me de quando come�ara a
mudar, mas apenas conseguia recordar cenas, poss�veis pontos de
viragem, tais como a da minha visita � enfermaria durante o tempo
de aulas e da rapariguinha de 11 anos deitada na cama que nos
olhava esperan�osa. Sofria de fibrose c�stica, que � geralmente
mortal. E quanto ouvia o pessoal m�dico discutir o caso, sentia-me
enfraquecer sem conseguir olh�-la de frente.
- Talvez haja uma hip�tese de a manter viva mais alguns anos -
disse o m�dico de apoio quando nos retir�mos. Nesse instante,
quase me senti um canalizador.
A porta do elevador abriu-se. De alguma forma, desta vez,
10
minhas responsabilidades haviam mudado. Estava agora a
preocupar-me que algu�m se pudesse levantar da morgue e arruinar
minha imagem, fazendo-me passar pelo rid�culo. Est� certo havia
mudado, notoriamente para pior, mas que podia eu fazer acerca
disso?
J� no meu quarto, a cama gemeu sob o peso do meu corpo. Na
semiobscuridade, os olhos da minha mente percorreram cada
detalhe daquele corpo magro. Isto aconteceria aos outros internos?
N�o sabia ao certo, mas tamb�m n�o podia imaginar o que lhes
passaria pela cabe�a. Pareciam t�o seguros, t�o certos mesmo
quando n�o tinham esse direito. Antes de aqui estar, imaginava as
crises de um interno duma forma talvez diferente, um pouco mais
nobre. Eram sempre � volta de um doente que tent�ramos salvar
com grande luta, ang�stia de uma vida perdida.
Mas aqui estou a remoer-me com a ideia de que um paciente de
outro m�dico recome�asse a respirar, aborrecia-me n�o conseguir
relacion�-lo com a pessoa em si. Faltava um quarto para as dez.
Apressei-me, agarrei no telefone e liguei para a ala das
enfermeiras. Precisava naquele momento de estar com algu�m, para
provar que a vida continua.
- Mrs. Stevens, por favor. Jan, podes aqui vir? N�o, n�o se passa
nada. Claro, traz as mangas. � isso mesmo, estou de servi�o.
Podia ver algumas estrelas atrav�s dos cortinados. Estava como
interno havia duas semanas e tinham sido as mais longas duas
semanas dos meus 25 anos, o ponto mais alto de tudo, do liceu, da
faculdade, da escola m�dica. Como havia sonhado com aquilo!
Agora, quase toda a gente que conhecia estava no estado de gra�a
do internato, e, quando n�o era uma desgra�a, era uma confus�o. -
Bem, Peters, agora � que foi.
S� lhe quero lembrar que � muito f�cil sair da liga, mas muito
dif�cil entrar outra vez. - Esta � uma cita��o directa do meu professor
de cirurgia quando soube que eu decidira fazer o internato num
centro que n�o pertencia � universidade, longe da torre de marfim
do circuito m�dico, e ir trabalhar nas zonas desfavorecidas. E para o
11
sistema m�dico n�o h� s�tio melhor que o Havai.
Nos termos do sistema de trabalho ditado pelo computador, eu
estaria destinado a um internato de uma qualquer Ivy League.
Nesse aspecto, era claramente evidente que havia saltado fora. Mas
j� n�o podia evit�-lo. Assim que acabei a escola m�dica, comecei a
ver que ser m�dico era entregar-me ao sistema, como um tronco a
uma m�quina de cortar.
No fim do tratamento, j� deveria estar alisado, cheio de
conhecimentos e pronto a arranjar compradores, provavelmente. Mas
assim como as aparas saltam, tamb�m as partes "n�o produtivas" da
personalidade devem ir, tais como a empatia, a humanidade e o
instinto de se preocupar. Tinha de evitar isso, se conseguisse, se
n�o fosse j� tarde de mais. Saltei por isso no �ltimo minuto.
- Bem, Peters, agora � que a fez bonita.
O facto de o homem magro ter morrido deixara-me um pouco
nervoso, e levantei-me da cama mesmo antes de a Jan ter batido.
Gra�as a Deus n�o era o telefone. Estava com um certo receio do
telefone.
- � �ptimo ver-te, com as mangas e tudo. Mangas, exactamente
do que eu estava a precisar. Claro que podes acender a luz. Estava
s� aqui a pensar. Est� bem, deixa isso. Pratos e talheres? Queres
comer as mangas agora? - Eu n�o queria mangas, mas isso n�o era
raz�o, e de qualquer modo ela estava deliciosa com a luz suave a
reflectir-se no cabelo, e cheirava t�o bem como se tivesse acabado
de sair do chuveiro. Um perfume mais doce que qualquer perfume.
Mas a coisa que mais atra�a em Jan era a sua voz. Talvez ela
cantasse um pouco para mim.
Fui buscar o prato e duas facas, sent�mo-nos no ch�o e
come��mos a comer as mangas. N�o fal�mos, a princ�pio, e essa era
uma das raz�es porque gostava dela, pela sua reserva. Tinha
tamb�m um aspecto agrad�vel de se olhar, e parecia t�o jovem,
pensava eu. J� hav�amos estado juntos duas vezes anteriormente,
antes desta noite, mas n�o �ramos, no entanto, muito �ntimos. N�o
tinha import�ncia. Bem, n�o tinha import�ncia porque me apetecia
conhec�-la melhor, especialmente nessa altura. Havia algo de
12
po�tico no seu cabelo louro e fei��es delicadas; s� nessa ocasi�o
senti necessidade de a conhecer melhor.
A manga era pegajosa. Tirei-lhe a pele toda e dirigi-me ao lavalou�as
para lavar as m�os. Quando voltei de novo para junto dela
olhava para outro lado, e a luminosidade vinda da janela dava aos
seus cabelos um tom de prata esplendoroso. Estava encostada a um
bra�o, com as pernas dobradas para o outro lado.
Quase lhe pedi para cantar Tenta lembrar-te, mas n�o o fiz,
provavelmente porque ela o faria - ela cantava quase tudo o que lhe
pedia para cantar. Se tivesse come�ado a cantar nesse momento,
toda a gente das outras alas a iria ouvir. De facto, podiam at�
provavelmente ouvir-nos a comer as mangas. Ao sentar-me ao lado
dela, voltou o rosto e pude ver os seus olhos.
- Aconteceu algo esta noite - comecei.
- Eu sei - disse ela.
Aquilo quase me fez parar por ali. Eu sei. Sabia, sabia. E n�o s�
eu sabia que ela n�o sabia, como tamb�m que n�o seria capaz de
lhe explicar. Continuei.
- Pronunciei a morte do velhote magro como sendo devida a um
cancro no est�mago, e agora estou com receio de que o telefone
toque e que seja a enfermeira a dizer-me que afinal ele est� vivo.
Ela virou a cabe�a para o outro lado, afastando o olhar. Foi
ent�o que disse a palavra certa.
Disse que era divertido! Divertido?
- Achas que � absurdo? Bem, era de facto absurdo, mas era
tamb�m divertido.
- Sabes que uma pessoa morreu esta noite, e s� consigo pensar
� que ela pode estar viva, e isso seria uma boa partida. Uma
partida para mim.
Ela concordou. E a sua an�lise do assunto terminou ali.
Continuei:
- N�o achas estranho eu ter essa opini�o est�pida sobre o final
da vida de algu�m?
Isso foi de mais para ela, penso, porque a sua resposta foi
13
perguntar-me se gostava de mangas. Gosto de mangas, s� que
naquele momento n�o me apetecia comer. Ainda lhe ofereci a
minha. Apesar de tudo, sentia-me um pouco melhor, como se a
transmiss�o dos meus pensamentos tivesse retirado o velhote
magro da minha mente. Perguntei a mim mesmo se Jan cantaria
Aquar�us. Ela tornava-me feliz de uma forma simples.
Enlacei-a com o bra�o e ela p�s-me um pouco de manga na boca,
derrubando uma barreira sem dar por isso. "Est� bem, n�o falaremos
do velhote magro", pensei. Beijei-a e, quando me apercebi de que
ela tamb�m me beijava, pensei como seria bom fazer amor com ela.
Beij�mo-nos mais uma vez, e ela abra�ou-me, de modo que pude
sentir o seu calor e suavidade.
Tinha as m�os pegajosas da manga, mas passei-as ao longo das
suas costas, perguntando a mim mesmo se ela faria amor comigo.
Essa ideia afastou todas as outras da minha mente. Sentia-me
rid�culo ali no ch�o, e estava j� a imaginar como haver�amos de ir
para a cama, quando me apercebi de que ela nada trazia por baixo
do vestido leve; tinha estado demasiado ocupado a acariciar-lhe as
costas. Ela sentiu o meu desejo de sair dali e levantou-se ao mesmo
tempo.
Tentei tirar-lhe o vestido, mas ela agarrou-me no bra�o e
come�ou a desapert�-lo atr�s, e saiu de dentro dele, maravilhosa
sob a luz suave. Pode n�o ter compreendido o meu problema, mas
realmente conseguira fazer-me esquec�-lo. A poesia em que eu a
envolvera alargava-se agora aos seus seios. Tirei a camisa, o
estetosc�pio, e aproximei-me rapidamente, com medo que ela
pudesse desaparecer.
O telefone tocou. Aquele momento tinha-se desvanecido, e na
minha cabe�a estava novamente o velhote magro. Jan deitou-se na
cama, enquanto eu olhava para o telefone. Dez segundos antes, a
minha cabe�a estava clara e bem dirigida; agora era novamente
uma selva. E com a confus�o ocorreu-me algo terr�vel: ele est� a
respirar. Deixei o telefone tocar mais tr�s vezes, esperando que
ficasse por ali. Era a enfermeira.
- Dr. Peters, a fam�lia chegou.
14
- Obrigado. Vou j� para a�.
Senti-me inundado por uma sensa��o de al�vio; era apenas a
fam�lia. O homem continuava morto.
Pus a minha m�o no fundo das costas de Jan; a sua pele quente
e macia exigia aten��o, e a curvagraciosa das suas costas n�o me
ajudava a pensar em como pedir � fam�lia para fazer a aut�psia. Foi
f�cil encontrar a minha camisa, mas o estetosc�pio conseguiu
enganar-me at� que o pisei enquanto vestia a camisa.
- Jan, tenho de ir ao hospital. Espero vir depressa. - Sa� do calor
do quarto a pestanejar diante da luz fluorescente do corredor, a
caminho da tortura do elevador.
Existe algo de sinistro no sil�ncio e na escurid�o de um hospital
adormecido. Eram j� dez e meia e s� estavam de servi�o os turnos
da noite, uma esp�cie de vida feita de luzes suaves e vozes baixas.
Atravessei o corredor em direc��o � ala das enfermeiras, passando
por quartos assinalados apenas por luzes fracas.
Podia ver do outro lado duas enfermeiras a conversar, embora
n�o conseguisse ouvi-las. O corredor parecia-me excepcionalmente
longo, desta vez, como se fosse um t�nel, e a luz ao fundo lembravame
uma pintura de Rembrandt, de �reas claramente iluminadas
emolduradas em terracota. Sabia que a calma podia ser desfeita a
qualquer momento, levando-me a uma nova crise, mas por enquanto
esse mundo conservava-se intacto.
Uma aut�psia. Tinha de lhes pedir para fazer a aut�psia.
Lembrei-me da primeira que vira, no segundo ano da escola m�dica,
no in�cio do nosso curso de patologia, quando eu ainda pensava
que a Medicina podia curar toda a gente.
- Venham para aqui, homens, e ponham-se � volta da mesa.
Parec�amos todos id�nticos, nas nossas batas brancas, a
marcharmos como crian�as bem comportadas, que at� penso que
�ramos. E foi ent�o que a vi. N�o a que t�nhamos ido observar, mas
sim outra, numa outra gaveta, e que seria a pr�xima a ser
autopsiada. Tinha a pele de um amarelo frio e acinzentado, com
uma erup��o de herpes zoster, de les�es incrustadas que iam do
15
bra�o at� � cintura, passando pelo peito. A Herpes Zoster � uma
doen�a s�ria da pele caracterizada por grandes feridas incrustadas.
O seu efeito visual tinha sido sem d�vida assustador. A mulher
estava deitada na placa de cimento manchada. Ca�a �gua � sua
volta e por baixo dela, fazendo uma caleira na base, originando um
ru�do quase obsceno de suc��o.
Alguns tra�os a l�pis haviam sido feitos na etiqueta colocada no
bra�o direito. O seu cabelo parecia fraco e quebradi�o. Mas o que
mais me impressionara fora a cor desagrad�vel da sua pele. Devia
ter cerca de 30 anos, n�o era muito mais velha que eu, pensei. Esta
vis�o n�o me havia feito sentir fisicamente doente, como a alguns
colegas, mas sim de algum modo impotente.
Estava inegavelmente morta, mas, no entanto, pareceria estar
viva se n�o fosse pela cor da pele. Morta, viva, morta.. estas
palavras, completamente opostas, pareciam fundir-se na minha
mente. O cad�ver que havia dissecado no primeiro ano de anatomia
n�o se parecia com este. Estava morto e nada sugeria ter estado
vivo. � o ambiente que d� esta ideia, disse para mim mesmo,
aquela sala cinzenta-escura e a luz indirecta, j� de si parecendo
manchada e decadente ao tentar entrar pelas janelas deprimentes.
Que diabo queres, Peters? Um carro f�nebre com cobertura de
veludo, velas, e rosas?
Mas n�o era aquela mulher o cad�ver que v�nhamos ver.
Comprimi-me contra as batas brancas agrupadas � volta de outra
mesa, e pude observar �rg�os e ouvi os ru�dos gorgolejantes que o
professor de patologia fazia ao abrir o corpo, demonstrando a sua
t�cnica. N�o consegui ver o suficiente para apreciar a li��o, e, de
qualquer modo, o que me havia interessado tinha sido o que estava
atr�s de mim. Os outros seguiam atentamente a aula; eu n�o
conseguia deixar de olhar para o outro cad�ver. N�o queria tocarlhe,
mas fi-lo, e ter descoberto que n�o estava assim t�o frio ainda
piorou as coisas.
J� n�o me sentia chocado, apenas um pouco assustado com o
facto de ela me ter demonstrado elementarmente que a diferen�a
16
entre a vida e a morte era uma quest�o de tempo e de sorte. Isso
nada significava para ela agora. Devia tamb�m ter tido medo,
porque era uma mulher jovem, talvez at� desej�vel e cheia de
possibilidades, e estava agora morta e amarelada, deitada no
cimento manchado, numa suja sala subterr�nea. Era uma coisa lidar
com sexo quando o indiv�duo estava vivo, quente e vigoroso. Mas
n�o conseguia lidar com isto. O meu c�rebro agitado registara mil
pensamentos; o sexo havia inegavelmente estado entre eles, as
minhas recorda��es do amor.
Havia sido h� muito tempo, e a seis mil milhas de dist�ncia.
Neste momento tinha de tratar da aut�psia do homem magro.
- A fam�lia est� ali, no sof�, Doutor - disse uma das enfermeiras
quando cheguei � recep��o. Duas pesssoas pareceram materializarse
de repente vindas do nada. Enquanto me aproximava, a palavra
"aut�psia" lembrava-me a cada instante aquele cabelo ba�o e a
herpes zoster. Talvez devesse chamar-lhe "post-mortem", soava
melhor.
- Os meus p�s�mes.
- Obrigado. J� est�vamos � espera.
- Gostar�amos de fazer uma aut�psia. - Afinal, a palavra saiu-me
muito naturalmente.
- Claro, � o m�nimo que podemos fazer.
"O m�nimo que podemos fazer?" Surpreendia-me que sentissem
que tinham de fazer alguma coisa. J� me sentia suficientemente
constrangido por ter sido eu quem lhes telefonara a meio da noite a
dizer que o pai deles havia morrido, e sentia-me agora ainda mais
ao pedir-lhes autoriza��o para realizar a aut�psia.
Mas aparentemente tamb�m pareciam sentir-se culpados. Uma
vez que ningu�m era culpado da morte, todos partilhavam a culpa. O
m�nimo que podemos fazer? Estava a subestimar um simples
coment�rio. Que reac��o esperara eu deles? Acusa��es? Lam�rias?
Como iria aprender mais tarde, a maior parte das pessoas fica
simplesmente paralisada perante a morte, e condicionada pelo seu
comportamento reflexivo normal e civil.
- N�s tratamos do resto dos pap�is, Doutor - ofereceu-se uma
17
das enfermeiras.
- Obrigado.
- Quer�amos agradecer-lhe pelo que fez - disse o filho, assim
que sa�mos da ala.
- De nada. - Eram boas pessoas, pensei, ao afastar-me,
felizmente n�o leram o meu pensamento, Senti nesse momento uma
necessidade de ir verificar o pulso do homem. Qual seria a reac��o
deles se soubessem do meu medo? Ficariam aborrecidos, ou
chocados. Provavelmente ficariam primeiro chocados e depois
aborrecidos. E que pensariam se o pai acordasse na morgue? Sorri
para dentro, porque � muito raro levar-se agora algu�m para a
morgue. A maior parte vai para uma capela funer�ria. Demasiados
programas de TV e filmes de m� qualidade. Estava a ser parvo.
Costumo devanear quando estou cansado, e neste momento, sentiame
exausto.
- Doutor, tem aqui uma chamada. - A voz apanhou-me quando ia
quase no fim do corredor escuro. "Deve ser a Jan", pensei, e lembreime
subitamente da imagem dela nua no meu quarto. A imagem
fundiu-se com a cena na escola m�dica, do cad�ver amarelado e da
herpes zoster no seu peito. Mas afinal a chamada n�o era de Jan;
vinha da enfermaria A, era outra enfermeira agitada. Algo sobre a
tens�o venosa de algu�m que havia descido.
O filho do homem magro ainda ali estava. Olhei-o mais uma vez,
por um instante, e senti-me subitamente orgulhoso por ali estar, e
depois est�pido, pelo meu orgulho. Olhando para o outro lado do
corredor, pensei que a minha situa��o podia ser tudo menos
gloriosa.
Tens�o venosa? O meu conhecimento consistia numa defini��o
memorizada um pouco duvidosa: "A press�o venosa � a press�o
medida em repouso nas grandes veias do corpo." Para al�m disso,
praticamente nada mais sabia. Sem ligar a isso, apressei-me, como
se soubesse tudo. Era esse o meu dever.
A pouca coragem que ainda tinha desapareceu quando vi as
enfermeiras � volta do quarto de Marsha Potts. Marsha Potts era a
18
trag�dia do hospital. Nas rondas do primeiro dia do meu internato,
duas semanas antes, estiv�ramos no seu quarto a ouvir desenrolar a
hist�ria. O que a tinha levado para a cl�nica havia sido sintomas de
�lcera, e ali estavam eles, grandes como tudo, nos raios-X. Era
sempre bom poder ver uma �lcera.
O radiologista estava satisfeito porque tinha uma boa
radiografia e os cirurgi�es estavam ext�ticos, cumprimentando-se
um ao outro pelo seu diagn�stico perspicaz e afiando os bisturis.
Era �ptimo. Geralmente era �ptimo tamb�m para o paciente, mas
n�o para Marsha.
Os cirurgi�es haviam efectuado uma gastrectomia, retirando a
maior parte do est�mago e selando o final do intestino delgado que
normalmente sai do est�mago. Haviam ent�o seleccionado um ponto
a alguns cent�metros abaixo do intestino e, depois de lhe fazerem
um orif�cio, coseram-lhe uma pequena bolsa feita dos restos do
est�mago, dando assim a Marsha um novo est�mago, se bem que
mais pequeno. Esta opera��o, conhecida como Billroth II, envolve
uma enorme quantidade de cortes e pontos, e � por isso muito
popular entre os cirurgi�es.
Marsh a tinha atravessado tudo aquilo muito brandamente - pelo
menos, era essa a opini�o geral - at� ao terceiro dia, altura em que
a liga��o entre o intestino e a bolsa do est�mago se rompeu. Isso
deu origem a que os sucos pancre�tico e g�strico se derramassem
no interior do abd�men e ela come�ou a digerir-se a si pr�pria.
As enzimas digestivas comeram-na literalmente at� � incis�o, e
o seu abd�men tornou-se num ferimento aberto de cerca de trinta
cent�metros de di�metro. As enfermeiras mant�nham-no coberto com
alimentos para lactentes, numa tentativa de absorver uma parte do
suco pancre�tico e neutralizaras enzimas. O odor putrefacto e
penetrante deixava toda a gente mal-disposta, havia semanas. Mas
para mim o pior neste caso era saber que o n�o podia resolver. De
maneira alguma.
Ao entrar no pequeno quarto onde ela se encontrava isolada,
verifiquei que a situa��o n�o podia ser pior. A sua pele apresentava
19
uma cor amarela-acinzentada e os seus bra�os ca�am para os lados,
agitando-se debilmente. A enfermeira sentiu-se aliviada com a
minha visita, mas em vez de me sentir confiante s� conseguia
pensar "Oh, minha tonta se conseguisses ver o que me vai pela
cabe�a n�o verias nada, apenas, um imenso vazio".
Marsha Potts tinha aparentemente sofrido uma insufici�ncia
geral. Ao folhear a pilha de gr�ficos e resultados de an�lises, tentei
descortinar o que se passara e ganhar um pouco de tempo para me
orientar. Uma enorme barata negra subia a parede por cima do leito
mas n�o lhe prestei muita import�ncia; mais tarde trataria dela. Era
duro imaginar que qualquer forma de vida podia depender de mim.
Comecei, contudo, a verificar que a minha mente ainda
funcionava. Claro, o pulso. Procurei-o, e batia fortemente, cerca de
72 pulsa��es por minuto, quase normal.
�ptimo. Ora, se a press�o venosa tinha descido a zero
enquanto o bater do cora��o parecia estar a funcionar bem, isso
deveria significar que n�o havia sangue suficiente nas veias. Pelo
menos estava a pensar. A �ltima coisa que queria fazer era retirar o
penso espesso e ensopado do seu abd�men. Gotas de suor
escorreram-me pela face.
Estava imenso calor ali. A tens�o? A enfermeira dissera que era
de 110/90. Como diabo � que a tens�o e o pulso estavam t�o bem
sem a press�o venosa? Sem a press�o venosa, o cora��o n�o
bombeava, e se n�o o fazia n�o podia sair nada, da� n�o haver
tens�o ou pulso. Era assim que deveria funcionar, mas obviamente
n�o era o que se passava neste caso. Malditos professores de
fisiologia. No laborat�rio de fisiologia da escola m�dica havia um
c�o com tubos inseridos no cora��o nas art�rias e nas veias. As
coisas a� funcionavam perfeitamente, como era costume no
laborat�rio. Quando os m�dicos reduziram a tens�o do c�o, ao
baixarem a press�o venosa, a tens�o do animal baixou
rapidamente. Seria autom�tico e reproduz�vel, como se o c�o fosse
uma m�quina.
Mas Marsha Potts n�o era uma m�quina. Mesmo assim, por que
n�o reagia ela como os animais do laborat�rio, em vez de me
20
presentear com uma esmagadora e insol�vel dificuldade? Mal sabia
por onde come�ar a examin�-la. N�o apresentava incha�os na pele
devido � reten��o de fluidos, excepto nas costas; o local normal
para aparecer esse tipo de edema, como resultado de estar deitada
durante muito tempo. Marsha estava de cama havia cerca de tr�s
meses. Inclinei-lhe a m�o esquerda para tr�s e ela reagiu, voltandoa
reflexivamente para a frente. Fant�stico. Tinha um adejo hep�tico.
Quando h� uma falha no f�gado, o paciente desenvolve um reflexo
curioso: se se dobrar a m�o em direc��o ao pulso, ela volta para
tr�s num movimento reflexo, como uma crian�a a dizer adeus.
Experimentando a alegria de uma descoberta positiva, olhei mais
uma vez para o gr�fico.
O adejo hep�tico n�o estava ali descrito. N�o sabia muito sobre
a press�o venosa, n�o podia escrever in�meras p�ginas sobre o
adejo hep�tico, que havia encontrado antes apenas uma vez. Testei
a sua outra m�o, e o reflexo actuou mais uma vez. Isso significava
que ela estava muito mal. De facto, enquanto devaneava pelas
aprecia��es acad�micas do meu diagn�stico, a mulher estava a a
morrer.
Na verdade, ela estava j� praticamente morta; contudo,
tecnicamente, estava ainda viva. Tinha amigos e familiares que
pensavam nela como uma pessoa viva. Mas n�o podia falar, e cada
�rg�o do seu organismo estava a falhar. Conseguiria ainda pensar?
Provavelmente n�o. De facto, por apenas um momento, pensei que
ela estaria melhor se estivesse morta, mas afastei esse pensamento
severamente. Como � que se pode saber se algu�m est� melhor
morto? N�o se pode, � pura suposi��o.
O caso da Marsha Potts estava tamb�m a ficar fisicamente
confuso. A mulher que sofria de herpes zoster no peito parecia mais
viva, mas estava de facto morta. A que se encontrava � minha frente
no pequeno quarto estava viva... mas e se tentasse uma
intravenosa?
- Que quantidade de fluido lhe foi administrado durante as
�ltimas vinte e quatro horas? - perguntei � enfermeira.
21
- Est� tudo aqui, na folha de aplica��es. Foram cerca de 4000 cc.
"Quatro mil!" Tentei n�o aparentar surpresa, embora achasse
demasiado. De que tipo?
- Bem, na sua maior parte salino, mas tamb�m algum Isolyte M -
respondeu.
Que raio seria Isolyte M? Nunca tinha ouvido falar de tal.
Voltando o frasco, pude ler "Isolyte M" de um lado, e do outro:
"S�dio, cloreto, pot�ssio, magn�sio... " N�o precisava de ler mais;
era uma solu��o de subsist�ncia. A folha de entradas e sa�das era
uma confus�o de n�meros que pareciam escritos ao acaso. Desde o
in�cio da estada na escola m�dica me sentira fascinado pelo
equil�brio de fluidos e electr�litos, de tal modo que algumas vezes
me preocupava com o s�dio e quase me esquecia do paciente.
As entradas e as sa�das pareciam ajustar-se, com excep��o do
que havia ensopado o enorme penso que cobria a ferida. Havia sido
aplicada uma suc��o de fossa para sugar o fluido da ferida no
abd�men, mas n�o parecia estar a dar muito resultado.
O alimento infantil que recebia n�o deveria ter provavelmente
um efeito muito nutritivo. Era transportado para o est�mago por um
tubo que lhe entrava nas narinas; uma vez que os seus sucos
digestivos haviam formado uma f�stula, ou passagem, entre o
est�mago e o c�lon o alimento passava directamente do est�mago
para o intestino grosso e para o recto sem praticamente sofrer
altera��o.
Apesar de n�o aparentar estar desidratada, a sua urina
mostrava sinais evidentes de infec��o, na forma de sangue, b�lis e
pequenos residuos de mat�ria org�nica que flutuavam no saco do
cat�ter. Com tanta mat�ria, a �nica maneira de saber se a urina
estava muito concentrada era testar a sua gravidade espec�fica.
- Suponho que n�o h� nenhum hidr�metro neste andar, ou h�? -
A enfermeira desapareceu, satisfeita por poder fazer alguma coisa,
sem ligar ao tipo de tarefa. Ainda n�o encontrara explica��o para a
tens�o venosa de Marsha. Continuei a examin�-la, procurando sinais
de uma falha card�aca para a explicar, mas n�o encontrei nada.
Aparentemente o inevit�vel tinha de ser feito; teria de verificar
22
a les�o.
- Era isto que queria, Doutor? - A enfermeira entregou-me um
frasco de testes para verificar o n�vel de a��car na urina.
- N�o, um hidr�metro, um pequeno instrumento que se p�e a
flutuar na urina. � parecido com um term�metro. - Desapareceu
novamente enquanto eu verificava a etiqueta do frasco que ela me
havia dado. Talvez fizesse um teste ao a��car na urina, de qualquer
modo; n�o havia raz�o para o n�o fazer.
- � isto, Doutor?
- � isso mesmo. - Desprendi o saco do cat�ter. Prendendo a
respira��o para evitar o odor, enchi o pequeno frasco com o que
calculei ser urina suficiente para fazer o hidr�metro flutuar. Coloqueio
cuidadosamente na urina, mas n�o consegui fazer interpreta��o
alguma. O raio do aparelho mantinha-se num s� lado do frasco em
vez de flutuar, como devia.
Segurei o frasco na minha m�o esquerda e bati-lhe com o n� do
dedo indicador, tentando libert�-lo. Apenas consegui derramar urina
no bra�o. Depois de ter adicionado mais urina ao frasco, consegui
finalmente p�r o hidr�metro a funcionar.
A gravidade espec�fica estava normal dentro dos seus limites -
estava absolutamente normal, de facto - portanto, Marsha n�o
estava desidratada. Por alguma raz�o, o pessoal m�dico evitava
sempre a palavra "normal" sem lhe acrescentar qualificativos; utilizase
sempre "dentro dos limites normais" ou "essencialmente normal".
Marsha gemeu novamente. Ao inspirar o ar, fui confrontado com
uma sinfonia de odores no quarto. Desde que me lembro, nunca fui
capaz de aguentar maus cheiros.
Na instru��o prim�ria, quando um dos meus colegas vomitou, eu
quase o imitei, comum reflexo simp�tico, assim que o odor me
alcan�ou. Na escola m�dica, apesar das tr�s m�scaras e de toda a
esp�cie de truques mentais, era conhecido por ter v�mitos no meio
do laborat�rio de patologia.
Ainda estava a tentar encontrar uma explica��o para o estado
de Marsha Potts quando me ocorreu que ela poderia ter bact�rias
23
Gram-negativas no seu sistema sangu�neo; por exemplo, uma
infec��o bacteriana como pseudomonas; estas levavam por vezes a
um estado apelidado de septicemia Gram-negativa, que � uma das
vis�es mais terr�veis da medicina. O paciente tanto pode estar bem
num minuto, como no seguinte ter um arrepio e ir tudo para o diabo.
Talvez fosse essa a explica��o para a quebra da tens�o venosa.
Mas n�o via sinal algum da septicemia.
Marsha gemia agora regularmente, e cada gemido era como uma
acusa��o para mim. Por que n�o conseguia eu descobrir o que se
passava? Ao dar a volta para o outro lado da cama, chamei a
aten��o da enfermeira para o insecto que se havia movido alguns
cent�metros, � altura de um ombro.
A enfermeira deu um salto e desapareceu, voltando em seguida
com um monte de papel higi�nico, que fez abarata desaparecer.
Aquele tipo de bicho n�o me incomodava, pelo menos n�o tanto
como os ratos do hospital de Nova Iorque. A administra��o do
hospital afirmou saber da sua exist�ncia e estava a tratar do
assunto, mas o facto � que eles continuavam l�.
Havia talvez algo errado com a v�lvula reguladora de tr�s
entradas na conduta intravenosa. Quando abri a v�lvula na posi��o
de medir a tens�o venosa, n�o se moveu do zero. Fechei-a
novamente com rapidez, enchi a coluna com a solu��o de IV e ligueia
ent�o � paciente.
O n�vel manteve-se elevado por alguns segundos antes de
come�ar a baixar rapidamente, depois mais lentamente, como a
enfermeira disse que sucederia. Primeiro para 10 cm, e finalmente
para zero. Era intrigante, especialmente com as v�lvulas de tr�s
sa�das. Nunca consegui regul�-las como deve ser, por nunca saber
qual delas abrir ou fechar para uma liga��o.
Pedi � enfermeira uma seringa cheia de solu��o salina e
desengatei o sistema todo de tubagem que ia do cat�ter at� � veia
femoral, mesmo abaixo das virilhas. Marsha havia sido durante tanto
tempo sustentada Por via intravenosa que as veias dos bra�os j�
n�o serviam para a IV, e os m�dicos haviam come�ado a utilizar as
24
veias das pernas. Para meu espanto, n�o voltou sangue algum da
veia para o tubo do cat�ter, mesmo sem a press�o da solu��o de
manuten��o. Ao introduzir cerca de 10 cc da solu��o salina no
cat�ter com a seringa, senti uma resist�ncia clara; depois,
subitamente, a solu��o entrou mais facilmente. Quando retirei o
�mbolo da seringa, apareceu um fio de sangue no cat�ter.
Havia obviamente um tamp�o no terminal do cat�ter dentro da
veia de Marsha, provavelmente um co�gulo de sangue, que havia
actuado como um retentor, permitindo a entrada da solu��o, mas
impedindo a sa�da do sangue. A leitura da tens�o venosa dependia
do facto de o sangue poder subir pelo cat�ter. Transmiti isso �
enfermeira, mas n�o lhe disse que o co�gulo j� deveria estar
provavelmente nos pulm�es de Marsha. Se assim fosse, deveria ser
pequeno, gra�as a Deus.
Ao engatar mais uma vez a coluna, enchi-a e liguei-a � paciente.
Depois de ter a certeza de que mostrava uma tens�o normal, e que
ia manter assim, recomecei com a IV.
- Desculpe, Doutor, n�o sabia - disse a enfermeira.
- N�o � preciso pedir desculpa, n�o h� problema. - Sentia-me
satisfeito por ter resolvido um problema, ainda que pequeno. Tendo
em considera��o que come�ara sem ter a mais pequena ideia sobre
o que fazer, os resultados pareciam-me not�veis, embora a paciente
estivesse na mesma.
Marsha gemeu mais uma vez, contorcendo os l�bios. Era apenas
uma sombra do que fora, realmente, e ao dar-me conta disso
desapareceu o meu sentimento de ter conseguido alguma coisa.
Tudo que queria fazer nesse momento era poder sair dali, mas ainda
n�o era poss�vel.
- Doutor, j� que est� aqui, importava-se de dar uma olhada a
Mr. Roso? Os seus solu�os n�o deixam os outros doentes dormir.
Ao afastar-me com a enfermeira pelo corredor em direc��o ao
quarto de Mr. Roso, n�o pude deixar de pensar que aquele hospital
era de facto um edif�cio ins�lito, algo inteiramente novo na minha
experi�ncia. Os seus corredores comunicavam directamente com o
25
exterior, pelo menos na velha parte inferior, e a relva crescia mesmo
at� no fundo do corredor. Uma enorme sapucaieira dominava o �trio,
sussurrando e inclinando-se com o vento. Enormes �rvores tropicais
adornavam o solo meticulosamente tratado. Era muito diferente dos
outros hospitais onde havia trabalhado. Havia uma �rvore nos
jardins da escola m�dica em Nova Iorque, mas foi deitada abaixo
antes de me ir embora.
O resto era tudo em cimento e tijolos, tudo amarelo. Mas o pior
de todos havia sido Bellevue, onde fizera o meu quarto ano de
trabalho cl�nico (trabalhando essencialmente como interno, embora
fosse oficialmente estudante). Os corredores a� haviam sido
pintados com uma deprimente cor castanha, cuja tinta ca�a j� como
uma pele, e de tal modo asquerosa que and�vamos pelos
corredores sempre no centro para evitar tocar-lhes. O meu quarto
tinha uma janela partida e uma canaliza��o caprichosa. Situava-se
no outro extremo das alas m�dicas do hospital e s� podia ser
alcan�ado atravessando o centro respirat�rio, onde estavam todos
os doentes com tuberculose.
Ao atravess�-lo continha muitas vezes a respira��o
inconscientemente, e chegava por isso sem f�lego ao meu destino.
Se Dante pudesse ter tido oportunidade de ver Bellevue, ter-lhe-ia
dado um lugar proeminente no seu Inferno.
Como detestei aqueles dois meses. Vi uma vez um filme que me
fez lembrar de Bellevue; foi O Julgamento, de Kafka, e nele os
personagens erravam para sempre em corredores infinitos. Assim era
Bellevue, com corredores infinitos, especialmente para quem prende
a respira��o. Qualquer janela suficientemente limpa revelava-nos
outros edif�cios sujos com mais corredores. At� mesmo um inocente
acto da natureza poderia ser perigoso.
Uma vez que me dirigi para os lavabos dos homens com alguma
pressa, escorreguei ao passar pela porta e ca� literalmente em cima
de um grupo de pacientes ocupados a injectarem-se com hero�na
com as seringas do hospital. Foi a primeira vez que doentes me
amea�aram de morte, mas n�o a �ltima.
O Havai n�o se parecia nada com Bellevue. N�o havia sido
26
amea�ado aqui, pelo menos por enquanto, e as paredes eram
limpas e cuidadosamente pintadas, mesmo na cave. Sempre
imaginei que todas as caves fossem iguais, mas aquela estava
limpa, at� mesmo brilhante.
N�o sei por que os doentes com tuberculose me preocupavam
tanto; talvez fosse aquela parte irracional que existe em todos n�s,
suponho, quando se determina que h� algumas coisas que nos s�o
prejudiciais e outras que n�o nos afectam. Ap�s ter estudado a
hipertens�o maligna, pensava agora, cada vez que tinha uma dor de
cabe�a, que estava afectado por ela. Talvez a tuberculose me
incomodasse tanto porque o meu primeiro doente a quem fiz um
diagn�stico f�sico a tinha.
Quando ainda era estudante, hav�amo-nos auscultado todos uns
aos outros, do que haviam resultado muitos risos e pouca
aprendizagem. T�nhamos sido ent�o enviados para um hospital para
podermos faz�-lo com pacientes pela primeira vez.
O hospital chamava-se o Memorial de Goldwater, e fazia
Bellevue parecer o Waldorf. Ap�s ter tirado um cart�o com o nome
de algu�m escrito, aproximei-me da cama de um homem sentindo-me
t�o transparentemente novato que poderia muito bem ter levado
estampado na cabe�a um letreiro a dizer segundo ano da escola
m�dica, primeira tentativa". Ia tudo muito bem at� escutar a sua
regi�o do �ngulo costofr�nico esquerdo do lado direito da cama. Ao
inclinar-me para o seu peito, disse-lhe para tossir, o que ele fez,
directamente no meu ouvido.
Senti as gotas ca�rem na parte entre o pesco�o e o cabelo,
todas aquelas gotas de flegma amarela cheia de organismos
tuberculosos resistentes aos antibi�ticos. Nem mesmo o champ� dos
lavabos dos homens, ou seja, o sabonete l�quido da farm�cia, me
fizeram sentir bem. Assim que cheguei ao apartamento lavei a
cabe�a v�rias vezes, como Lady Macbeth.
At� aqui, n�o tivera de lidar com pacientes de tuberculose neste
hospital. Talvez n�o os houvesse no Havai.
A minha divaga��o terminara. Olhei para a enfermeira que me
pedira para ir ver Roso. Era mais um dos encantos do Havai, muito
27
bonita, com uma mistura de sangue chin�s e havaiano, creio eu, com
uma figura elegante, olhos de am�ndoa e dentes perfeitos.
- Gosta de surf? - perguntei-lhe, ao chegarmos � porta da
enfermaria dos homens.
- N�o sei - disse ela suavemente.
- Vive perto do hospital?
- N�o, vivo no vale de Manoa, com os meus pais. - Era uma
pena. Queria continuar a ouvi-la, mas est�vamos a chegar ao quarto
de Roso.
- O Roso tem vomitado?
- N�o, nem por isso, tem � estado com solu�os. Nunca pensei
que os solu�os pudessem ser t�o desagrad�veis. Sente-se muito
infeliz.
Ao dar uma olhada ao meu rel�gio, antes de entrar na
enfermaria, reparei que era quase meia-noite. Mesmo assim, n�o me
importei ir v�-lo. Ele era, por v�rias raz�es, o meu doente favorito.
As luzes fracas ao n�vel do ch�o davam uma luminisc�ncia que
banhava o corredor, e pareciam misturar-se com os sons calmos da
respira��o e do ressonar. Um solu�o agudo quebrou esta
tranquilidade, e o ressonar mudou o seu ritmo.
Seria capaz de encontrar Roso no meio da maior escurid�o por
causa dos solu�os. T�nhamo-lo operado na segunda manh� do meu
internato. Na verdade, "t�nhamo-lo" n�o era a palavra certa; o
residente-chefe e um residente do segundo ano haviam efectuado a
opera��o, enquanto eu segurei nos retractores durante tr�s horas.
Era o primeiro a admitir a minha in�pcia na sala de opera��es; do
modo porque as coisas caminhavam, a minha ignor�ncia era uma
seguran�a.
Ao contr�rio da maior parte dos estudantes de Medicina, que
estavam em regra ansiosos por uma cirurgia, eu tinha pouca
experi�ncia nesse campo, devida em parte ao facto de n�o querer
tido t�-la, mas tamb�m por estar um pouco mais interessado nos
electr�litos e nos problemas de fluidos ap�s as opera��es. Isso
tinha dado jeito a todos. Os outros estudantes n�o se interessavam
28
pela qu�mica, enquanto eu me dava ao trabalho de ficar seis horas
na sala de observa��es, observando os outros a cortarem e a
coserem. Especialmente depois de uma cena que ocorrera da
segunda vez que preparei para uma opera��o, em Nova Iorque.
Tratava-se de uma opera��o a um cancro, uma remo��o completa
dos seios, ou uma mastectomia radical, como � chamada pelo
Grande Sorriso, o mais famoso cirurgi�o do mundo.
Sendo na altura apenas um estudante do segundo ano, sentia
uma grande apreens�o, e o facto de estarem todos um pouco
tensos, mesmo os m�dicos residentes, agravou ainda mais a minha
ansiedade. O Grande Sorriso entrou subitamente na sala de
Opera��es sumptuosamente magn�fico e atrasado como era
habitual. Verificou alguns instrumentos no grande tabuleiro
esterilizado, pegou neles e atirou-os para o ch�o, gritando que
estavam riscados e dobrados, e que n�o eram aceit�veis.
O ru�do assustou de tal modo o anestesista que este deu um
salto e arrancou a m�scara � doente. Desapareci, esperando que
n�o dessem pela minha falta, o que de facto sucedeu.
Comecei a ficar para ver as opera��es do princ�pio ao fim, mas
at� hoje n�o consegui ainda entender os cirurgi�es. Um deles era
geralmente, um indiv�duo calmo e agrad�vel, menos quando se
encontrava na sala de opera��es, onde tive ocasi�o de o ver uma
vez atirar uma pin�a ao anestesista residente apenas porque o
paciente se movera.
Numa outra ocasi�o, o mesmo indiv�duo dispensara um dos
cirurgi�es residentes da sala de opera��es, alegando que o seu
h�lito era demasiado forte. Em nenhum caso havia sentido incentivo
para passar mais tempo na sala de opera��es. Estava ainda muito
verde em cirurgia no in�cio do meu internato.
Apesar da minha inexperi�ncia, conhecia a rotina do trabalho,
como lavar as m�os, como as p�r, como as secar, e como vestir a
bata e as luvas; sabia mesmo dar alguns n�s cir�rgicos. T�nha-os
aprendido � custa de erros e experi�ncia. A minha primeira
esteriliza��o, no terceiro ano da escola m�dica, havia sido para
29
efectuar um trabalho de sutura na sala de opera��es das urg�ncias.
Passei dez minutos a lavar as m�os e os antebra�os e limpei
cuidadosamente as unhas com um palito de laranjeira antes de p�r
desajeitadamente a bata. Tinha vestidas as cal�as largas, a touca,
a m�scara e tudo o resto, e a enfermeira tinha-me finalmente
ajudado a p�r as luvas de borracha.
Ap�s vinte e cinco minutos de esfor�o e de concentra��o, estava
finalmente pronto para ir; tinha as m�os t�o esterilizadas como uma
pedra lunar. Depois, peguei casualmente num banco e dirigi-me ao
paciente, contaminando assim as m�os, a bata, tudo. A enfermeira e
m�dico residente desataram a rir-se histericamente; at� mesmo o
paciente atordoado se juntou a eles quando tive de recome�ar tudo.
No caso de Roso, para al�m da minha limitada vantagem de
estar a tratar dos retractores, tinha percebido que a opera��o n�o
estava a correr bem.
O residente chefe n�o parava de amaldi�oar o fraco
protoplasma e tinha realmente que concordar que o tecido de Roso
sangrava facilmente. Uma hemorragia s�ria brotou perto do
p�ncreas no final do tubo, mas os dois conseguiram terminar o
Billroth I, que consiste em ligar o est�mago e os intestinos da forma
que estavam antes, mas sem a �lcera.
Depois era necess�rio que eu atasse as suturas de Roso; seria
�ptimo para qualquer pessoa menos para mim. Pensei em pedir a
um dos residentes para p�r o dedo na primeira la�ada do n�, como
se estivesse a atar um presente de natal. Por um segundo, achei a
ideia divertida.
Na verdade, para uma pr�tica t�o simples, atar aquele n� havia
sido uma tarefa exasperante. As suturas s�o por vezes muito
estreitas e dif�ceis de sentir atrav�s das luvas de borracha,
especialmente nas pontas dos dedos, onde a borracha � mais
espessa e onde necessitamos de mais sensibilidade.
Sabia que tinha de atar o n� de modo a que as extremidades da
incis�o ficassem unidas, apenas beijando-se, sem tens�o e sem
permitir que a pele se enrugue. Senti nessa altura que todos me
observavam e julgavam. Embora me apercebesse disso, nada mais
30
importava a n�o ser o n�, porque era literalmente a chave para que
a opera��o desse resultado.
A extremidade do fio de seda negro que segurava na minha m�o
direita desapareceu sob a pele num dos lados da incis�o e emergiu
do outro lado. Juntei-o � outra extremidade, na m�o esquerda, e dei
o primeiro la�o, apertando-o at� que as extremidades se tocaram
ligeiramente. E agora o pr�ximo la�o.
Mas assim que foi aliviada, a incis�o abriu-se. Juntei-a de novo,
e dei mais uma la�ada o mais depressa que pude, com esperan�a
de vencer a deisc�ncia - a fenda. O que aconteceu foi que as
extremidades ficaram perigosamente separadas. A seguir, para meu
horror, aproximou-se uma m�o com uma tesoura que cortou o n�,
enquanto se ouviam risos abafados l� atr�s.
Uma outra m�o recome�ou a suturar, enfiando a agulha curva na
pele para atravessar a incis�o e sair do outro lado. Olhei para o c�u
suplicante: que fazia eu ali se nem conseguia dar um n�?
Tive mais uma oportunidade na segunda fila de pontos de Roso,
que partiam da primeira parte da sutura que ia na direc��o oposta.
Na altura em que dera a segunda la�ada, a sutura ficara t�o
apertada que a pele se juntara em pequenas rugas e as
extremidades ficaram enroladas com a tens�o. Mais uma vez algu�m
pegou na tesoura, uma amabilidade de um estudante residente do
segundo ano que havia cortado o meu primeiro n�, e a incis�o
separou-se.
Parecia t�o f�cil e r�tmico quando eram os outros que faziam.
Apesar disso havia detectado alguns truques aqui e ali, uma volta a
seguir ao primeiro la�o, por exemplo. Em vez de deixar a sutura
plana no primeiro la�o, pux�-la para n�s, com ambos as linhas.
Mas isso foi apenas metade. Tentei mais uma vez, com melhores
resultados embora estivesse ainda um pouco apertado. Pelo menos
t�nhamos resolvido o problema de Roso, por enquanto.
O primeiro ind�cio de problemas foram os solu�os, que haviam
come�ado cerca de tr�s dias depois da opera��o. Vinham
regularmente a cada oito segundos, e eram divertidos ao princ�pio.
31
De facto, Roso havia-se tornado numa curiosidade do hospital, com
os seus solu�os cronometrados. Tinha apenas 55 anos, mas os anos
passados nos campos de ananases faziam-no parecer mais velho,
todo enrugado e magro.
As suas cal�as teimavam em cair enquanto deambulava pela
enfermaria levando consigo a IV. As veias dos bra�os tamb�m j� se
haviam esgotado para a IV e, tal como Marsha, tinha um cat�ter
ligado � virilha direita. Isto tornava tudo ainda mais complicado. Se
Roso apertasse suficientemente o cinto para manter as cal�as no
lugar, a IV pararia. Por isso tinha de andar com uma m�o no var�o
da IV e a outra nas cal�as.
Roso era filipino e o seu vocabul�rio em ingl�s resumia-se a
cinquenta ou sessenta palavras simples, que utilizava para
transmitir conceitos emocionais. "Corpo n�o for�a", como ele diria, e
era o suficiente, como a poesia haiku. Compreendia-o e apreciava-o
muito. Havia nele algo de tremendamente nobre e corajoso. Para
al�m disso, ele gostava de mim, o que, como compreendi mais
tarde, tinha um peso importante na minha vontade de o manter vivo.
Ao ver-me de manh� na ronda, Roso sorria sempre abertamente
apesar dos solu�os que faziam todo o seu corpo estremecer.
Qualquer pessoa podia ver que estava exausto.
Tentara todos os tratamentos que pudera encontrar nos livros
cir�rgicos, m�dicos e de farm�cia, mesmo da medicina popular;
respirar para dentro de um saco de papel n�o o ajudara. Numa veia
mais cient�fica, fi-lo inalar um frasco de 5 por cento de di�xido de
carbono, sem obter efeito, nitreto de Amyl e pequenas doses de
Thorazina que tamb�m n�o deram resultado, assim como c�lcio, que
experimentei numa suposi��o de que os seus solu�os pudessem
derivar do seu estado de hipernervosismo; os seus reflexos eram t�o
bruscos que, quando lhe bati abaixo do joelho com o martelo de
borracha, atirou com a chinela.
O meu grande erro havia sido n�o ter considerado os solu�os
como sintoma de algo mais profundo. Continuava a v�-los como um
problema isolado, quando na realidade eram apenas um efeito
32
secund�rio da cat�strofe reprimida no seu interior. Um outro sintoma
ocorreu quando o m�dico residente mandou retirar o tubo do
est�mago de Roso e os fluidos lhe sa�ram pela boca. Uma hora
depois o seu est�mago inchara duas vezes mais que o tamanho
normal e come�ou a vomitar. Nada o poderia ter feito sentir t�o
infeliz como os solu�os, os v�mitos e a falta de sono; qualquer
destas coisas seria de enlouquecer uma pessoa, mas o valente Roso
l� estava, com um grande sorriso sempre que me via.
"Corpo n�o for�a", dizia ele, sempre as mesmas palavras, mas
carregadas com um sentimento diferente de cada vez, dependendo
da maneira que se sentia. "Corpo mais forte j�." Comecei a utilizar o
seu vocabul�rio nessa maneira curiosa cada vez que falava com
algu�m que n�o entendia muito bem ingl�s. Convencemo-nos de que
dando alguns erros tamb�m, eles compreender�o melhor.
Quando estava na escola m�dica, com alguns pacientes que
falavam espanhol, dei comigo a dizer a um deles: "Opera��o precisa
dentro barriga." Claro que isto n�o fazia muito sentido, mas se o
paciente n�o compreendeu as palavras percebeu com certeza o seu
significado. Est�vamos principalmente a tentar aproximar-nos deles.
O pobre Roso estava entubado com o fluido intravenoso
acompanhado de suc��o g�strica constante atrav�s do tubo que lhe
entrava pelas narinas em direc��o ao est�mago. Torturado pelos
solu�os, vomitava cada vez que o tubo sa�a, quer este o alimentasse
ou n�o. Apenas alguns dias atr�s, o tubo ficara completamente
bloqueado, de modo que Roso estivera �s portas da morte por
causa de um peda�o de alimento.
Ao irrigarmos o tubo do nariz para aliviar o bloqueio, l� saiu um
material que parecia borras de caf�. Era sangue velho. Foi uma sorte
eu gostar de verificar as varia��es nos fluidos e electr�litos quando
ia v�rias vezes por dia verificar a quantidade de s�dio e cloreto que
existia nos fluidos que dele provinham. Substitu�a-os, para al�m de
lhes dar manuten��o. Cheguei mesmo a dar-lhe magn�sio, na
esperan�a de que o pudesse ajudar, depois de uma busca exaustiva
que fiz na biblioteca do hospital.
Mas o maior problema de Roso era interior, mais para al�m do
33
meu saber. Assim como Marsha Potts, estava a gotejar da
anastomose, a liga��o entre o intestino delgado e a bolsa do
est�mago, e a �nica diferen�a era que, no caso de Roso, a incis�o
n�o se tinha desfeito. Estava apenas a gotejar fortemente dentro
dele, bloqueando o est�mago e causando os solu�os, mantendo-o
nos fluidos IV, fazendo o seu peso descer de dia para dia, de tal
modo que pesava agora apenas quarenta quilos.
Na luta contra a perda de peso, que significava tamb�m a perda
das for�as, encontrei uns artigos sobre solu��es proteicas e de
grande percentagem de glucose, e tentei tudo o que neles se
encontrava; continuou mesmo assim a perder peso, indo da
apar�ncia normal de magro, at� uma apar�ncia esquel�tica de fome.
E, apesar disto tudo, ele continuava a sorrir e a falar haiku. Gostava
dele. Para al�m disso, era meu doente e iria v�-lo sempre que de
mim necessitasse.
- Ent�o, Roso, como se sente? - perguntei-lhe, olhando para ele.
Que pobre figura era ali deitado, no escuro, s� com as cal�as do
pijama vestidas, com o tubo do IV enfiado na virilha direita e o tubo
que lhe sa�a do nariz. O seu corpo estremecia com solu�os de oito
em oito segundos.
- Doutor, n�o mais for�a, fraco muito j�. - Conseguiu dizer isso
entre solu�os. T�nhamos que fazer alguma coisa. Tinha andado atr�s
do m�dico de servi�o, o residente-chefe, de toda a gente, mas sem
resultado. Espera, foi o que me disseram. Eu sabia que n�o
pod�amos esperar. Roso ainda confiava em mim, mas a sua vontade
estava a esmorecer. - Doutor, n�o quer viver mais, hic, n�o mais. -
Nunca me haviam dito aquilo, e ouvi-lo gelou-me o sangue. Embora
pudesse compreender como se sentia, n�o queria admitir que ele
havia chegado �quele ponto, porque eu sabia o que acontecia aos
doentes que desistiam de lutar.
Deixavam-se simplesmente levar, morriam. Algo no esp�rito
humano podia aguentar tudo, mesmo em presen�a de um colapso de
origem completamente fisiol�gica, at� que o esp�rito desistia e
levava o corpo com ele. Por vezes o desespero era t�o grande que
34
n�o esper�vamos dos pacientes reac��es positivas, mas Roso haviao
dito: e isso tornava o caso diferente. Disse a mim pr�prio que
Roso queria apenas avisar-me de que estava quase a desistir, mas
ainda o n�o fizera.
Roso precisava desesperadamente de dormir. Embora pudesse
satisfaz�-lo, era no entanto uma faca de dois gumes. A Sparina, que
� um tranquilizante potente, iria anestesi�-lo, at� mesmo com os
solu�os. Mas com o tubo enfiado na garganta, estava em perigo
constante de apanhar uma pneumonia, especialmente se ficasse
inconsciente. Sem o tubo, poderia vomitar, e se vomitasse e
estivesse inconsciente poderia sufocar.
O Demerol e o velhote magro l� em cima tamb�m me
incomodavam. Os familiares haviam sido maravilhosos, nunca
sentindo a d�vida em mim, aceitando as minhas palavras, n�o
negando a aut�psia. E se eu lhes dissesse quepensava que o pai
estava morto? Como haveriam eles de saber que a diferen�a entre a
vida e a morte n�o era muitas vezes a preto e branco, mas cinzenta
e indistinta? Vejamos Marsha Potts, por exemplo: estava morta ou
viva, ou em algum outro espa�o entre ambos os casos? Acho que
poderia ainda consider�-la viva, porque se melhorasse talvez ficasse
boa; por outro lado, ela n�o iria provavelmente melhorar, e pelo
menos uma parte do seu c�rebro estaria j� morta.
Parte do seu f�gado estaria tamb�m destru�da, como se via pela
icter�cia e pelos adejos hep�ticos; e os seus rins tamb�m. N�o era,
mais uma vez, a preto e branco. N�o mais que a minha decis�o
acerca de Roso e da Sparina.
Mas Roso necessitava de descanso e eu sentia uma grande
necessidade de fazer algo por ele. � uma forte propens�o humana,
essa de poder fazer algo; se algu�m desmaiar numa multid�o,
haver� sempre algu�m que v� buscar um copo com �gua, e algu�m
que improvise uma almofada. Ambas as ac��es s�o rid�culas em
termos m�dicos, mas as pessoas sentem-se melhor se puderem fazer
alguma coisa, mesmo numa situa��o que exija um tipo de ac��o
para que n�o est�o preparadas.
Havia tido essa sensa��o v�rias vezes. Uma vez, durante um
35
jogo de futebol no liceu, encontrei-me perante uma delas, na
confus�o, quando houve um tipo que partiu uma perna com um som
bem aud�vel, ficando dobrada abaixo do joelho. Entr�mos todos em
p�nico, embora ele n�o aparentasse ter muitas dores, e fiel ao
prot�tipo corri para lhe trazer um copo com �gua. Creio que foi
naquele momento que me decidi inconscientemente a ser m�dico. A
ideia de saber o que fazer, de satisfazer uma necessidade de agir,
era espl�ndida.
Muito bem, Peters, agora j� �s um m�dico - faz alguma coisa por
Roso. Ok, seria a Sparina, e no segundo em que tomei aquela
decis�o inundou-me a alegria da ac��o directa e positiva.
- Roso, fazer dormir, fazer mais forte. - Ao sentar-me na ala das
enfermeiras, a enfermeira de olhos amendoados entregou-me o
relat�rio de Roso. Parecia ainda mais bonita que antes.
- � chinesa? - perguntei-lhe, sem olhar para ela.
- Chinesa e havaiana. O meu av� da parte da minha m�e era
havaiano.
Pensei que seria interessante conhec�-la.
- Ent�o, vive em casa com a fam�lia, n�o �? - N�o me respondeu.
Bem, esque�amos isso. Abri a ficha para nela anotar a
administra��o de Sparina. � pena, no entanto. Parecia-se mesmo
como as raparigas havaianas que imaginara ver debaixo de uma
cascata, e a minha vida sexual, se assim lhe podemos chamar,
abrangia apenas Jan. Estaria Jan ainda l�, mesmo sendo j� meianoite?
"� melhor sair j� daqui", pensei, enquanto escrevia "Sparina 100
mg. IM stat", pus uma marca na ficha para indicar a nova ordem e
coloquei-a no suporte. Roso iria dormir. Da �ltima vez que lhe
administrara 100 mg, dormira durante dezoito horas.
- Doutor, j� que est� aqui n�o se importava de ver o doente que
p�s o gesso e o quadripl�gico? - A pergunta fiel e familiar. Conhecia
o quadripl�gico mas o outro n�o.
- Que se passa com ele? - perguntei, hesitante, receando um
pedido, para p�r uma nova camada de gesso �quela hora.
36
- Queixa-se de que sente algo a cort�-lo nas costas quando se
move.
- E o quadripl�gico?
- Recusa-se a tomar o antibi�tico. Na realidade, preferia n�o ter
sabido as respostas. As pessoas paralisadas causam-me quase
tanta impress�o como as tuberculosas. Recordei-me de um dos
edif�cios mais agrad�veis e do servi�o m�dico mais deprimente na
escola m�dica, neurologia e neurocirurgia. Lembrava-me de um
paciente que tivera de observar e que respondia �s minhas
perguntas � medida que lhe ia espetando uma agulha.
Parecia t�o normal que at� me interrogara a mim pr�prio porque
estava ele ali. Mas nessa precisa altura, ao introduzir-lhe a agulha
mais uma vez, os seus olhos desapareceram subitamente e a parte
esquerda do seu corpo ficou paralisada, atirando-o para o lado
esquerdo, quase caindo. S� conseguia ver o branco dos seus olhos e
ficara quase t�o paralisado como ele, sem saber que diabo fazer.
Nem tivera a satisfa��o de poder ir buscar um copo com �gua.
Havia apenas tido uma convuls�o, mas eu n�o sabia disso nessa
altura. Poderia ter estado a morrer, que eu ficaria ali com a boca
aberta. Ningu�m fora do mundo m�dico pode imaginar o que
significa um tipo de crise dessas para um estudante de Medicina.
Tornamo-nos de tal modo t�midos que tentamos n�o dar nas vistas
quando algo corre mal.
Os estudantes de neurologia eram incentivados a apreciar o
elegante diagn�stico do Professor Doutor com as m�os nos bolsos.
"Algumas vias da espinal medula cruzam para o outro lado antes de
chegar ao c�rebro. Outras n�o.
Se se tiver uma les�o que efectivamente tenha cortado um lado
da espinal medula, as vias que cruzam continuar�o a funcionar. Por
exemplo, vejam como este paciente consegue sentir a mudan�a de
temperatura, mas n�o tem um proprioceptivo, uma vez que posso
mover-lhe um dedo do p� em qualquer direc��o sem ele se dar conta
disso." E assim por diante.
T�nhamo-nos todos divertido muito ao conversarmos sobre essas
37
confusas fibras da temperatura que atravessam as comissuras
ventrais brancas e sobem o sistema lateral espinotal�mico para o
n�cleo ventral do t�lamo. Houve uma grande discuss�o sobre se as
fibras tinham ou n�o mielina. Nenhum campo da Medicina se pode
equiparar � neurologia no que diz respeito � linguagem profissional.
Entretanto, ningu�m se lembrou mais do doente. Bem, quase n�o
havia tempo para isso, tentando memorizar todas as tractos e
n�cleos, e, al�m disso, n�o pod�amos fazer coisa alguma.
Talvez fosse esta sensa��o de impossibilidade que se tornava
t�o dif�cil de aguentar emocionalmente. Lembro-me especialmente
de um caso particular passado na escola m�dica, embora n�o fosse
invulgar, de facto, tratava-se de um caso t�pico. O paciente estava
deitado � nossa frente num respirador, movendo constantemente os
m�sculos faciais. Nada mais nele se movia, n�o conseguia controlar
mais parte nenhuma do seu corpo porque este se encontrava
completamente imobilizado, sem sensa��es nos tecidos ou nos
ossos, completamente indefeso e totalmente dependente do
respirador para sobreviver. O Professor Doutor continuou: "Ir�o achar
este caso extremamente interessante, meus senhores; trata-se de
uma fractura do processo odonto�deo, que provocou um
encurtamento da espinal medula mesmo no ponto em que sai do
c�rebro."
O professor estava a adorar aquilo. O seu diagn�stico triunfal
tinha sido realizado, dissera-nos orgulhosamente, depois de uma
verifica��o da boca com raios-X. Ficara inchado como um pombo,
fora de si, virtualmente arrulhando, numa longa disserta��o acerca
da maneira que o atlas havia sido deslocado do seu eixo.
N�o conseguia tirar os olhos do doente, que olhava fixamente
para o espelho acima da sua cabe�a. Mais ou menos da minha
idade e talvez um caso irrecuper�vel. Saber que o seu corpo e o meu
eram essencialmente iguais, com a diferen�a provocada apenas por
uma pequena desconex�o no pesco�o, e que esta diferen�a
fraccional era total, tornou-me consciente do meu corpo naquele
momento como nunca antes, e senti vergonha dele. Senti fome
nesse preciso momento, e senti tamb�m as pontas dos dedos, uma
38
dor nas costas; sensa��es que ele nunca mais teria. Invadiu-me uma
raiva impotente e uma esp�cie de tristeza. O movimento � uma
parte t�o importante na vida, quase a pr�pria vida, que com esse
h�bito quotidiano as pessoas negam esse tipo de morte. Contudo,
estava perante uma morte em vida, e a minha mente gritava-me que
o meu pr�prio corpo estava condicionado pela mesma corda fr�gil
que ali jazia no respirador. Desde essa altura, nos maus momentos,
pensei muitas vezes que a morbidez da Medicina a tornava um mau
caminho para mim, mas apesar disso continuei. Ter�o os outros
m�dicos d�vidas como esta?
Mas agora tratava-se do homem com o gesso. Veria depois o
quadripl�gico. Tirei uma serra do arm�rio e desci o corredor com a
enfermeira. Ao entrar no quarto, deparou-se-nos um homem
completamente ligado do umbigo aos dedos dos p�s da perna
direita. Tinha a perna esquerda nua. Havia fracturado o f�mur em
duas partes nessa manh�, entre a virilha e o joelho, e o gesso havia
sido posto no lado direito. Era o seu primeiro dia com o gesso e
sentia-se imensamente desconfort�vel, como � costume. Encontrei a
ponta que o incomodava, e cortei-lhe algumas partes. Teria sido
mais r�pido com a serra el�ctrica da sala de emerg�ncias, mas n�o
era a altura certa para a usar, � meia-noite, devido ao ru�do que
fazia. Al�m disso, a vibra��o assustava sempre o doente, apesar
das nossas tentativas de lhes assegurar que a l�mina se limitaria
apenas �s �reas duras e n�o cortaria tecidos como a pele. Pareciam
entender at� a serra entrar em ac��o, abrindo facilmente caminho
atrav�s do gesso. Acabei de cortar e o caso do f�mur fracturado
suspirou de al�vio, movendo-se, agradecido.
- Sinto-me melhor, Doutor. Muito obrigado.
S�o coisas simples como esta que nos deixam bem-dispostos.
Claro que qualquer pessoa poderia ter cortado o gesso, mas isso
n�o importava. Saber que o homem agora poderia descansar
facilmente justificou ali a minha presen�a e fez-me sentir de algum
modo �til. Estava a aprender que n�o era permitido muitas vezes a
um interno tornar os pacientes mais confort�veis. O que um interno
39
faz na maior parte das vezes � mago�-los, introduzir-lhes agulhas,
p�r-lhes tubos no nariz, exigindo uma tosse depois de uma opera��o
para os for�ar a expandir os pulm�es. Essa tosse � geralmente
dolorosa e dura para os casos de doen�as pulmonares. Nesse tipo
de cirurgia � caixa tor�cica, � pr�tica comum o cirurgi�o dividir o
esterno, e lig�-lo outra vez no final da opera��o. Quatro ou cinco
horas mais tarde, era minha tarefa for�ar um pequeno tubo pela
traqueia, irritando a membrana, para fazer o doente tossir. Este
m�todo dava �ptimos resultados. Como qualquer pesssoa com algo
na sua traqueia, o paciente tossia invariavelmente, sentindo que
essa convuls�o o iria sufocar, tentando parar mas sem o conseguir, e
finalmente conformando-se, ensopado em suor e exausto, at� que
lhe retirava o tubo. Com essa tortura, havia evitado que o doente se
habilitasse a uma pneumonia ou algo pior, mas nesse momento
havia-o feito sofrer muito. Por isso, ter ajudado o homem com o
gesso n�o era uma tarefa para desprezar.
Contudo, a minha euforia n�o durou muito tempo porque teria
agora de ir ver o quadripl�gico. Estava completamente paralisado
do pesco�o para baixo, deitado numa estrutura, sobre o est�mago.
Emanava dele uma ang�stia profana. O tubo que sa�a de debaixo
do seu corpo estava ligado a um saco de pl�stico meio cheio de
urina. A urina era sempre um problema nestes casos. Uma vez que
um paciente paralisado perde o controlo da sua bexiga, necessita
de um cat�ter: com o cat�ter vem a infec��o. A maior parte dos
casos de septicemia Gram-negativa deriva de infec��es do sistema
urin�rio. Mas os abortos criminosos tamb�m n�o eram excep��o. J�
no fim do meu servi�o de ginecologia no terceiro ano da escola
m�dica, tivemos tantos abortos criminosos s�pticos, que mais
parecia haver uma epidemia em Nova Iorque. Eram, na maior parte,
raparigas que esperavam que a infec��o aumentasse antes de nos
procurarem, sem nos darem qualquer informa��o de diagn�stico.
Nunca. Algumas morreram negando at� ao fim terem feito um aborto.
Com a legaliza��o do aborto, suponho que as coisas tenham
mudado, mas naquela altura vi muitas vezes o sintoma, com a
irrevers�vel combina��o de press�o a zero, falha dos rins e um
40
f�gado moribundo. Essas bact�rias Gram-positivas gostam da urina,
especialmente depois de o paciente ter tomado os antibi�ticos
habituais.
Pensava nisso tudo ao observar o indiv�duo ali deitado a chorar
e a blasfemar. Tinha, figurativamente, as m�os nos bolsos, sem
saber o que fazer ou o que dizer. Que mais desejaria eu, se tivesse
20 anos e estivesse ali deitado ligado � m�quina, com toda a gente
a dizer para ter calma, vais ficar bom, e sabendo que era tudo uma
mentira? Pensei que preferiria uma pessoa que encarasse a
verdade, que fosse forte e a aceitasse. Por isso, num esfor�o para
ser firme, disse-lhe que tinha de tomar o antibi�tico, que sab�amos
que era duro, mas que mesmo assim teria de o tomar. Tinha que
tomar a responsabilidade de ser humano.
�s vezes surpreendemo-nos a n�s pr�prios, ao falar de lugares
desconhecidos dentro de n�s. N�o tinha bem a certeza de acreditar
no que estava a dizer, mas saiu assim mesmo. Enquanto ali
permaneci, o rapaz deixou de chorar o tempo suficiente para a
enfermeira lhe poder dar a injec��o. Tornou-se subitamente
importante para mim saber se o rapaz estava aliviado ou furioso,
mas n�o conseguia ver o seu rosto, e ele n�o disse nada. Tamb�m
n�o falei mais. A enfermeira quebrou o sil�ncio, dizendo-lhe que
tentasse dormir. Uma vez que nada me ocorria para lhe dizer, pus
suavemente a m�o no seu ombro, perguntando a mim mesmo se ele
a sentiria e perceberia como lamentava.
Sabia que tinha de sair da enfermaria naquele momento ou
desfaleceria. Em qualquer hospital, em qualquer altura, h� centenas
de pequenas tarefas quotidianas para fazer, como verificar as fezes
de algu�m, observar uma incis�o, tratar de uma queixa de torcicolo,
mudar uma intravenosa. Na verdade, as enfermeiras aqui no Havai
eram muito destras na aplica��o da IV. J� na escola m�dica, era uma
tarefa de primeira posi��o para um estudante. Nem a chuva, nem a
neve nos poupavam se tiv�ssemos uma chamada �s tr�s e meia da
manh� para ir mudar uma IV, atravessando metade da cidade
deserta de Nova Iorque. Lutei contra o mau tempo numa noite de
41
inverno, certa vez, para ser derrotado por um homem sem veias.
Apalpei-o e blasfemei, e finalmente usei uma veia t�o fina como a
de um cr�nio de um beb�, na parte de tr�s da m�o. Voltei depois
para casa, no meio da chuva, deitei-me eventualmente na cama,
antes de ter que recome�ar o servi�o, cerca de uma hora depois,
quando o telefone tocou novamente. Era mais uma vez a mesma
enfermeira, meio apolog�tica, e meio agressiva na sua defesa.
Tinha cortado o tubo acidentalmente quando ia p�r mais adesivo no
IV para o refor�ar.
De qualquer modo, havia sempre muito a fazer numa enfermaria.
Embora as enfermeiras conseguissem na maior parte das vezes
resolver os problemas, se h� algum m�dico por perto � mais que
certo manterem-no ocupado, e eu estava a ficar arrasado. Queria
apenas fazer mais uma coisa antes de voltar para o meu quarto: ir
ver Mrs. Takura, que estava nos cuidados intensivos. Esperava que
Jan se tivesse metido dentro da cama antes de adormecer. J�
passava muito da meia-noite.
Nunca cham�vamos aos cuidados intensivos pelo seu nome
completo, s� por C.I. De todos esses nomes, iniciais, abreviaturas, e
a linguagem profissional que um interno ouve, n�o h� outra que nos
fa�a logo saltar como C.I., porque � aqui que se encontra a ac��o,
uma unidade em crise perp�tua. As hip�teses de se ser chamado �
noite para l� ir s�o bastantes, pelo menos duas por noite, e as
hip�teses de se saber o que fazer s�o muito menores. O facto de as
enfermeiras serem eficientes e perceberem do assunto ainda
piorava as coisas. Come��vamos a perguntar-nos afinal que � que
t�nhamos aprendido durante aqueles dispendiosos quatro anos na
escola m�dica. A reac��o de Schwartzman, era o que t�nhamos
aprendido. Duas aulas sobre esse assunto e j� ningu�m tinha a
certeza sequer da sua exist�ncia. H� sempre algo estranho quando
um m�dico sabe tudo sobre uma doen�a que pode n�o existir, mas �
ainda pior com uma enfermeira numa situa��o de cuidados
intensivos. Claro que se o paciente tivesse de facto uma reac��o de
Schwartzman, seria um sucesso na altura: podia discursar lentamente
42
sobre o aspecto que o t�bulo distal convoluto do rim teria,
observado num microsc�pio iluminado, entre outras coisas. Em
rela��o �s medidas pr�ticas, n�o t�nhamos, contudo, tido tempo,
nem o patologista se tinha preocupado com isso, um facto que me
intrigava. As enfermeiras praticamente s� se tinham treinado para
fazer os pensos durante os tr�s anos de treino. Sei que isto n�o �
justo, mas contudo o seu treino era trivial comparado com os montes
de mecanismos, enzimas e reac��es de Schwartzman que n�s
t�nhamos que decorar. No entanto, nos cuidados intensivos bem
poderia ser eu a mudar os pensos. Senti muitas vezes que seria
melhor desaparecer dali antes que acontecesse algo que
necessitasse de uma reac��o inteligente.
Presume-se que um interno v� aprendendo os aspectos pr�ticos
� medida que evolui, mas se tiv�ssemos tido mais aulas pr�ticas na
escola m�dica estar�amos melhor, e os pacientes tamb�m. Num
hospital ningu�m se importa se conhecemos ou n�o a reac��o de
Schwartzman. O cirurgi�o observa os meus n�s: "Fracos, muito
fracos", diz ele. A enfermeira quer saber que quantidade de Isuprel
deve p�r em 500 cc de dextrose e �gua.
- Vejamos, que quantidade tem estado a dar ao paciente?
- Cerca de 0,5 mg.
- Hum, isso deve chegar.
Nunca temos a coragem de perguntar se Isuprel � o mesmo que
isoproterenol. Ser� que ela gostaria de saber tudo sobre as
radia��es tal�micas do n�cleo ventral do cerebelo? Com certeza que
n�o, uma vez que isso n�o ajudaria ningu�m nos C.I. Que maneira
esta de viver.
Era no que ia a pensar enquanto me dirigia pelo guarda-vento
dos C.I., hesitando como de costume em entrar naquela estranha
mistura de fic��o cient�fica e de dura realidade. Objectos estranhos
estavam pendurados nas paredes e no tecto, adornados com as
suas centenas de bot�es e interruptores, e ecr�s m�veis. Os sons
dos bips que pareciam de sonar misturavam-se sinfonicamente com
o cl�que-claque ritmado dos respiradores e os solu�os abafados de
uma m�e ajoelhada junto a uma cama a uma esquina. Estas
43
m�quinas, que se moviam e piscavam enquanto guardavam uma
vida, pareciam mais vivas que os pacientes, que jaziam im�veis,
cobertos com adesivos e ligaduras, como m�mias, e ligados com
tubos de pl�stico a variados frascos que pendiam dos suportes.
Essa mistura dava ao local, ao soar, um aspecto misterioso e
extraterrestre.
As pessoas normais reagem fortemente aos C.I. � a reencarna��o
f�sica do seu medo da morte e do hospital como lugar da morte. O
cancro, por exemplo, � certamente a doen�a mais temida do nosso
tempo, mas excepto para as v�timas, os familiares ou amigos, o
cancro quase n�o existe fora dos hospitais. Nos C. I, o cancro existe
como uma n�voa t�xica e primitiva. Quem trabalhe muito l�, pode
tamb�m esquecer-se que o hospital � tamb�m um s�tio onde a vida
come�a. Mas n�o h� partos nesta sala, e a maior parte das pessoas
associa-lhe, com raz�o, o desconhecido, a amea�a, o mau press�gio
e o fim, onde a morte vem nas pontas dos p�s.
Embora o ser humano normal n�o aprecie visitas ao hospital,
uma vez nos C.I., fica preso pela fascina��o magn�tica, apesar de
m�rbida, ou talvez por isso mesmo. Os seus olhos circulam em volta
absorvendo a fantasia, erguendo imagin�rios monumentos ao poder
abstracto da Medicina. A Medicina deve ser realmente poderosa,
com todas aquelas m�quinas. Sen�o, por que as teriam ali?
Contudo, um observador pressente sempre a corrente de medo que
se mistura com o seu respeitoso receio, sentindo-se dividido entre o
desejo de ficar e o desejo de partir.
Sentia a mesma ambival�ncia, mas por uma raz�o diferente.
Sabia que a maior parte do equipamento n�o tinha a m�nima
utilidade. Alguns dos aparelhos mais pequenos, embora n�o
causassem grande efeito, eram os que mais resultavam. Por
exemplo, os respiradores verdes pequenos, fazendo clique-claque ao
respirarem pelas pessoas que deles precisavam, valiam mais que
todos os outros juntos. Os mais complicados, com os monitores e os
bips electr�nicos, nada faziam a n�o ser quando as pessoas
estavam a ser observadas. A escola m�dica havia-me ensinado a ler
44
esses oscilosc�pios. Sabia que quando a curva descrita subia no
monitor, isso significava que milh�es de i�es de s�dio
bombardeavam as c�lulas musculares do cora��o. Depois aparecia
uma esp�cie de ponto no monitor, quando as c�lulas se contra�am e
as organelas citopl�smicas trabalhavam como loucas para mandar
novamente os i�es para o fluido extracelular. Parecia fant�stico; mas
esta magia cient�fica era apenas metade da tarefa. Baseando-se
nas curvas e na projec��o, o m�dico tinha ainda que pronunciar o
diagn�stico, e passar depois a receita. Era isso que me dividia, o
querer l� estar para aprender mais em menos tempo, mas sentia-me
apavorado, com medo de n�o saber o que fazer quando fosse
necess�rio assumir uma responsabilidade e eu fosse o �nico m�dico
por perto.
De facto, o meu receio j� se havia justificado v�rias vezes; por
exemplo, na minha primeira noite de servi�o como interno, quando
me mandaram verificar uma hemorragia nos C.I. Enquanto subia
apressadamente pelas escadas, tentei acalmar-me lembrando-me do
facto de a press�o localizada parar qualquer hemorragia. Parei
assim que entrei no quarto e vi o paciente. O sangue sa�a-lhe em
golfadas dos dois lados da boca, afogando-o num rio vermelho. N�o
era um v�mito; era sangue puro. Fiquei ali im�vel, aterrorizado,
estupidificado, enquanto os seus olhos imploravam ajuda. Mais
tarde soube que n�o havia mais nada a fazer. O cancro havia
destru�do a veia pulmonar. Mas o que me preocupava era que eu me
perdera, completamente vazio e imobilizado. Revi a cena durante
muitas das noites seguintes, e agora sofro desta obsess�o de me
sentir capaz de fazer alguma coisa, mesmo que n�o ajude o
paciente.
Mrs. Takura estava amparada numa cama de canto. Tinha quase
80 anos e o seu bonito cabelo branco estava finamente entran�ado.
Sa�a-lhe um tubo de Sengstaken da narina esquerda, firmemente
apoiado por uma esponja de borracha que lhe enrugava e distorcia
o nariz. Tinha algumas gotas de sangue seco num dos cantos da
boca. O tubo de Sengstaken tinha cerca de quatro mil�metros de
45
di�metro e era dos fortes. Dentro deste tubo existiam tr�s tubos
mais pequenos, chamados l�menes. Dois dos l�menes t�m uns
bal�es presos, um dentro do tubo mais pequeno e outro no maior.
Para que o tubo de Sengstaken possa funcionar, o paciente tem de
engolir este aparelho, o que nunca � f�cil, e � particularmente dif�cil
quando o paciente vomita sangue, como acontecia geralmente. Uma
vez colocado o tubo, o bal�o do fundo, dentro do est�mago, �
insuflado at� atingir mais ou menos o tamanho de uma laranja
grande; e assim prende tudo aos lugares certos. Um pouco mais
acima est� localizado o segundo bal�o: quando insuflado, adquire a
forma de um cachorro quente aconchegando-se na parte inferior do
es�fago. O terceiro l�men, fino mas longo, apenas faz uma limpeza
dos l�quidos indesejados, como o sangue. A finalidade disto tudo �
parar a hemorragia do es�fago com a press�o aplicada �s paredes
do es�fago pelo bal�o em forma de salsicha.
S� tratei uma vez um doente que necessitou do tubo de
Sengstaken, na escola m�dica. O seu problema era o alcoolismo,
que lhe havia causado uma cirrose grave e, eventualmente, uma
falha do f�gado. Claro que Mrs. Takura n�o era alco�lica; o seu
problema viera de uma crise de hepatite, anos atr�s, mas esses
casos t�m um aspecto comum. Um f�gado danificado impede a
passagem do sangue, de tal modo que a press�o aumenta
gradualmente nos vasos sangu�neos que se dirijam a ele, voltando
depois para baixo, causando uma dilata��o do es�fago, e mesmo,
em casos extremos, uma rotura. Nesta altura o paciente vomita
sangue copiosamente. Muito embora tivesse tratado o alco�lico
durante apenas um dia ou dois, lembro-me nitidamente de o ter
ajudado a engolir os bal�es. N�o tendo sido poss�vel, haviam-no
levado para a cirurgia, e j� n�o chegou a voltar para a enfermaria.
Uma hipertens�o da veia porta com varizes esofageais era uma
coisa s�ria, mas at� agora t�nhamos conseguido estabiliz�-la em
Mrs. Takura introduzindo-lhe o tubo. E ela tinha opera��o marcada
para dentro de oito horas.
N�o parecia oriental, apesar do seu nome e da sua resigna��o e
calma interior, tra�os que eu come�ava a notar em todos os
46
orientais. Estava sempre l�cida e alerta, cada vez que fal�vamos,
sabendo o que se passava e falando calmamente. Acho que ela
seria capaz de falar calmamemte dos seus ger�nios no meio de um
furac�o. Quando me perguntou como estava, como sempre fazia, a
resposta parecia ser importante para ela. D�vamo-nos bem. Al�m
disso, pensava que ela n�o iria recuperar. �s vezes tinha essa
intui��o irracional em rela��o a alguns pacientes. Por vezes
acertava.
Certa vez, algumas horas antes da sua admiss�o, os m�dicos
haviam tentado remover o tubo de Sengstaken, mas o resultado foi
mais uma hemorragia que a levou ao estado de choque antes de o
tubo ser reposto. Uma vez que havia estado de folga nessa noite,
n�o assisti ao drama e ao sangue; mas assustei-me com ela na
manh� seguinte, quando a sua tens�o baixou para 80/50 e o seu
pulso acelerou para 130 por minuto. De algum modo, recompus-me
suficientemente para lhe administrar mais sangue, compreendendo
por fim que a hemorragia afectara a sua tens�o. Quando a tens�o
estabilizou novamente, o meu esp�rito acompanhou-a. Causa, efeito,
cura. Isto deveria ter-me dado um pouco mais de confian�a, mas,
curiosamente, acreditar que uma decis�o certa se esconde por
detr�s de cada situa��o, apenas me fez ficar mais nervoso. Dar-lhe
sangue havia sido a decis�o certa, mas era tamb�m algo simples;
para a pr�xima talvez fosse diferente.
Mrs. Takura encontrava-se nessa noite agrad�vel e calma, como
de costume. Verifiquei-lhe a tens�o e a press�o dos bal�es, fiz uma
observa��o geral, tentando justificar a minha presen�a, apesar de
querer apenas conversar com ela.
- Ent�o, est� preparada para uma pequena opera��o?
- Claro, Doutor, se o senhor estiver, eu estou.
Aquilo chocou-me. Tive a certeza de que quando se referia "ao
senhor", se referia, no sentido colectivo, a todo o servi�o cir�rgico.
N�o podia referir-se a mim. Eu n�o estava nem perto de estar
preparado, apesar de saber alguma coisa sobre a opera��o, pelo
menos a parte te�rica. Podia falar durante vinte minutos dos
47
declives dos gradientes da press�o da veia porta, das vantagens e
maleficios da cirurgia realizada, fazendo uma anastomose da veia
porta para a veia cava inferior, de lado a lado, ou do lado ao
extremo. Ainda me lembrava dos diagramas da uni�o esplenorenal -
essa era do fim para o lado. A ideia geral era aliviar a press�o do
sangue no es�fago, passando o sistema venoso do f�gado, onde a
press�o havia aumentado e causado a hemorragia, para uma veia
onde a press�o era mais regular, como o interior da veia cava, ou a
veia renal esquerda. Tinha tamb�m na mem�ria os n�meros
comparativos destes procedimentos, mas n�o queria pensar neles.
Como � que se pode olhar para um paciente e pensar que tem vinte
por cento de hip�teses?
- Estamos preparados, Mrs. Takura.
Insisti no estamos, quando deveria de facto ter dito "eles", pois
nunca observara sequer uma dessas opera��es, chamadas desvio da
veia cava/veia porta. Era fant�stica, teoricamente. Nada
entusiasmava mais os professores que falar dessas diferen�as de
press�o, tratando-as com este m�todo.
Quando come�avam, gostavam particularmente de discutir certos
artigos obscuros escritos por Harry Byplane da Universidade de
Acol� (Harry era sempre um bom amigo, � claro), que demonstravam
que um artigo de George Littlechump na de Al�m se havia enganado
ao pressupor que o declive da press�o venosa hep�tica interlobular
juntamente com o plexo portal interlobular n�o tinha import�ncia -
aquilo n�o tinha import�ncia l�, � o que se ouve muitas vezes nas
rondas da escola m�dica. Para se sair vencedor, teria de se citar um
dos mais obscuros artigos sobre o declive da press�o (eles
gostavam especialmente dos gradientes de press�o ou pH),
afirmando que Bobble Jones tinha provado de forma conclusiva
(qualquer d�vida seria desastrosa) que, numa s�rie de setenta e
sete pacientes (era necess�rio um n�mero exacto, mesmo que
fict�cio), todos eles morriam se fossem para o hospital. No final, n�o
tinha muita import�ncia o que se havia dito, desde que tivesse
bastantes n�meros e declives e refer�ncias pessoais ao autor; erase
ent�o aclamado, e o primeiro da classe. Era assim nas grandes
48
ligas.
- Bem, Peters, agora � que a arranjou a bonita.
- Mas, e Mrs. Takura?
- Esquece o paciente, estamos a falar de i�es de hidrog�nio no
sangue, e isso � o pH, com um p pequeno e um H grande.
Lembrei-me de uma noite em que est�vamos todos reunidos �
volta de uma cama, durante uma das aulas na escola m�dica.
Qualquer pessoa podia ver que os estudantes eram aqueles de
bata branca curta. As batas e as cal�as brancas definiam os internos
e os residentes. E havia depois, no auge da hierarquia, as longas
batas brancas engomadas; uma maravilha, t�o brancas que faziam
os len��is das camas parecer cinzentos. Preciso de explicar quem as
usava?
Algu�m mencionou o nome da doen�a do paciente e l�
recome��mos n�s numa intrincada quest�o sobre o pH, os i�es de
s�dio, as sondagens sobre a glucose, citando artigos de Houston,
na Calif�rnia, e alguns suecos. Os nomes eram atirados de um lado
para o outro, numa esp�cie de pingue-pongue acad�mico. Quem
acabaria o jogo, dizendo o �ltimo nome, a �ltima novidade?
Est�vamos quase sem f�lego, cheios de ansiedade, quando algu�m
notou que est�vamos reunidos � volta da cama errada. O paciente
ali deitado n�o sofria da doen�a que estiv�ramos a debater. Isso
finalizou o jogo sem haver um vencedor, e afast�mo-nos
silenciosamente em direc��o � outra cama. N�o consegui perceber
que raio de diferen�a fazia, uma vez que nem sequer tiv�ramos
tempo de observar o paciente. Talvez se sentissem envergonhados
de discutir uma doen�a em frente de outro paciente.
- Tente dormir, Mrs. Takura. Vai correr tudo bem.
Dei uma olhada por cima do ombro para verificar se a costa
estava livre. As enfermeiras n�o me haviam prestado muita aten��o,
em parte porque estavam ocupadas com um homem no s�tio oposto.
O homem estava ligado a um monitor de um ECG que mostrava um
batimento muito irregular do cora��o. A mulher chorava ainda
silenciosamente na cama do seu filho adolescente, coberto de
49
ligaduras. Tinha um ferimento na cabe�a, resultante de um acidente
de autom�vel; nunca chegou a ficar consciente.
Dirigi-me para a porta, abri-a e sa�. O dia mudou para a noite.
As luzes brilhantes, o som das m�quinas, a az�fama das
enfermeiras, tudo isso se desligou assim que a porta se fechou.
Estava de volta �quele corredor escuro e apressado do hospital.
� minha esquerda, encontrava-se uma enfermeira no seu posto, com
a silhueta evidenciada pela luz brilhante por detr�s dela. Tudo o
resto se confundia na obscuridade. Entrei no corredor
completamente �s escuras. Tudo o que tinha a fazer era voltar para
o lado da luz, descer as escadas e atravessar o �trio em direc��o
aos meus aposentos. Ainda tinha tempo de dormir. Subitamente,
uma luz acendeu-se por detr�s de mim e uma voz gritou.
- Houve uma paragem, Doutor. Uma paragem. Venha depressa! -
Ao voltar-me, a luz desaparecera, deixando apenas pontos
luminosos no meu campo visual. O bloqueio de Berlim, uma crise de
m�sseis cubanos, o Golfo de Tonkin. Crises, sem d�vida, mas n�o t�o
pr�ximas, nem t�o perto de casa. Para mim, isto significava um
alerta m�ximo, o tipo de cat�strofe que eu mais receava. A minha
primeira ideia foi que n�o seria o �nico m�dico a aparecer, mas
devido � hora seria talvez o �nico. Se tivesse tido oportunidade de
escolher, teria partido na direc��o oposta, sem me preocupar se era
cobarde ou realista. Mas ali estava, a dirigir-me para o paciente,
quase a imagem do jovem interno a correr pelo corredor com o
estetosc�pio agarrado nos dedos tensos.
J� o devem ter observado na televis�o e nos filmes, e � de facto
emocionante, n�o �? Assim como o som do clarim e o ataque da
cavalaria no �ltimo momento. Mas no que pensa este interno?
Depende para onde ele est� a correr. Se estiver �s escuras, est� a
tentar l� chegar inteiro. Para al�m disso, depende do tempo que
esteve como interno. Se n�o for h� muito tempo, h� apenas umas
semanas, ent�o corre assustado; aterrorizado, para ser mais exacto.
N�o quer ser a primeira pessoa a chegar.
J� l� est� agora, sem f�lego, mas intacto fisicamente. Mas a sua
50
mente devaneava em outro lado. A pouca informa��o que tinha
sobre a situa��o havia sido subitamente varrida do seu c�rebro pelo
choque da responsabilidade. N�o se preocupem em aprender os
nomes de drogas ou de dosagens, insistiam os professores de
farmacologia, aprendam apenas os conceitos. Como se diz a uma
enfermeira para preparar 10 cc de conceitos para um doente que
est� a morrer?
O estranho mundo voltou a envolver-me assim que abri as portas
dos C.I., e � claro que era o �nico m�dico, acompanhado pelas duas
enfermeiras que estavam � cabeceira do homem com o ECG
irregular. Enquanto a minha boca formava uma obscenidade
inaud�vel, os meus dedos apertaram involuntariamente a arma��o
da cama, como para se apoiarem. J� n�o era o interno da televis�o,
mas sim um m�dico verdadeiro, cheio de inexperi�ncia e terror.
Quem me apoiaria se esse homem morresse? As enfermeiras? Os
professores da escola m�dica? Os m�dicos de servi�o? O hospital?
O que era mais importante � que ainda n�o aprendera a perdoar os
meus pr�prios erros.
Olhei de novo para a porta, desejando que algum residente
aparecesse, embora fosse improv�vel; veio-me � ideia a raz�o por
que tantos estudantes brilhantes e dedicados passam pela escola
m�dica e depois, ao lidar com o internato, mudam para a pesquisa
ou outro tipo de campo param�dico. Qualquer coisa deve ser melhor
que o internato. H� algo errado aqui. Por que � que um interno n�o
sabe aplicar nada �til quando � chamado aos C.I. nas primeiras
semanas de internato? E por que � que os assistentes n�o lhe d�o
apoio? Mesmo os mais atenciosos n�o conseguem ser mais que
calmamente agressivos. Parecem dizer:
- N�s j� estamos fartos desta merda. Agora, que diabo, � a
vossa vez.
Bem, estava a faz�-lo, aqui e agora nos C.I, sem hip�tese de
aparecer ajuda, mas desta vez tive sorte. O monitor do oscilosc�pio
mostrava o ECG com um impulso el�ctrico err�tico, como os
gatafunhos de uma crian�a irritada. Quando o som do bip come�ou a
soar cada vez mais alto, at� atingir um staccato extremamente
51
r�pido, compreendi que o paciente tinha entrado em fibrila��o
muscular; o seu cora��o era apenas uma massa incoordenada e
trepidante. Agora, sabia o que fazer. Ia dar-lhe um "choque".
Na realidade, a decis�o foi tanto minha quanto das enfermeiras.
Sempre um passo � frente, tinham j� o desfibrilador carregado e
uma delas entregava-me placas oleadas.
- Qual � a carga? - perguntei, sem realmente me importar, mas a
necessitar do controlo que a pergunta me dava.
- Carga total - respondeu a enfermeira das placas. Apliquei uma
delas ao peito do homem, mesmo por cima do esterno, e a outra ao
longo do lado esquerdo do t�rax. O que era estranho era ele n�o
ter deixado completamente de respirar. Nem estava inconsciente.
O �nico sinal de sofrimento que apresentava, para al�m da
respira��o entrecortada, era uma esp�cie de olhar surpreendido,
como se lhe tivessem roubado a respira��o. Carreguei no bot�o da
placa. O seu corpo inteiri�ou-se violentamente e os bra�os agitaramse
em v�rias direc��es. O blip do ECG desapareceu subitamente do
ecr�, com a tremenda descarga el�trica, mas apareceu logo a seguir,
parecendo normal. Fiquei mais descansado quando o bip reapareceu
tamb�m, sugerindo uma m�dia de pulso normal, e o homem respirou
fundo. As coisas aparentaram ir bem apenas durante dez segundos,
quando ele deixou de respirar e a pulsa��o desceu a zero, enquanto
o ECG continuava com o blip, numa m�dia normal. Era muito
estranho. Os blips do ECG com um paciente sem pulso era coisa que
n�o vinha nos comp�ndios. A minha mente jogou um enorme match
de t�nis interior, com conceitos a voarem de um lado para o outro;
havia actividade el�ctrica, mas n�o havia batimento, nem pulsa��o.
- Tragam-me um laringosc�pio e um tubo endotraqueal.
Uma das enfermeiras j� os tinha. Ele tinha que receber oxig�nio.
O Oxig�nio e o di�xido decarbono, tinham de o fazer mover, e para
isso t�nhamos que introduzir o tubo endotraqueal e respirar por ele.
Este tubo � colocado atrav�s de um aparelho longo, fino e
brilhante chamado um larigosc�pio. Este aparelho tem uma l�mina
no extremo, de cerca de quinze cent�metros mais ou menos, que �
52
utilizada para levantar a base da l�ngua e abrir a entrada para a
traqueia, por onde o tubo deve entrar. Assim que a l�mina entra na
garganta, tentamos localizar o op�rculo que cobre a traqueia
durante a degluti��o - a epiglote. Estamos sentados atr�s do
paciente, nesta fase, puxando a sua cabe�a para tr�s, lutando
contra mat�rias estranhas como o sangue, o muco, ou v�mito. Uma
vez que se veja a epiglote, faz-se deslizar o instrumento l� para
dentro, desce-se um pouco e comprime-se. Com alguma sorte,
estaremos a ver ent�o, para al�m da traqueia, as cordas vocais, que
s�o de um branco-creme, em contraste com a mucosa vermelha da
faringe.
Esta � a situa��o ideal. Na pr�tica, tem-se muitas vezes que
tactear na garganta com a m�o livre, � procura da traqueia, e muitas
vezes n�o a encontramos. E mesmo quando isso acontece, os
problemas n�o acabam mais, porque introduzir o tubo pode ser uma
coisa muito complicada. O orif�cio precioso entre as cordas vocais
ser� tapado pelo tubo de borracha no �ltimo momento. N�o h� mais
nada a fazer sen�o empurr�-lo �s cegas. �s vezes tamb�m pode
acontecer estarmos a introduzir o tubo no es�fago, de modo que
quando se tenta dar ventila��o ao paciente - for�ar a entrada do ar
- � o est�mago que se enche em vez dos pulm�es. E h� geralmente
sempre algu�m a fazer massagem card�aca no peito do paciente, e
o laringosc�pio bate contra os dentes ou sai da boca, e essa �rea
pode estar a encher-se rapidamente com l�quidos de qualquer fonte.
Para mim, introduzir o tubo endotraqueal era um pesadelo.
Mas n�o havia outra pessoa para o fazer, por isso empurrei a
cama para tr�s e pus-me atr�s dele com o laringosc�pio.
- Qual � basicamente o problema? - perguntei rapidamente,
puxando a sua cabe�a para tr�s.
- Nem sempre segue o ritmo do pacemaker - respondeu uma das
enfermeiras. Subitamente, tudo fazia mais sentido.
- Que � que lhe est�o a dar? Que cont�m aquele frasco?
perguntei, apontando para o frasco da IV.
- Isuprel - respondeu uma delas, e mandei-as acelerarem-no.
53
Sabia que o Isuprel ajudava as contrac��es do cora��o, e era
particularmente �til em casos em que o cora��o se contra�a sozinho.
- A que velocidade? A que velocidade? - N�o fazia a m�nima
ideia.
- Deixe correr. - N�o me ocorria nada melhor para dizer. Tinha,
agora a cabe�a para tr�s, o laringosc�pio introduzido nagarganta,
mas n�o conseguia ver as cordas vocais. - Traga-me uma ampola de
bicarbonato. - Assim que uma das enfermeiras saiu do meu campo
de vis�o perif�rico, compreendi que tinha pensado em alguma coisa
que elas n�o tinham previsto. Consegui ent�o ver as cordas vocais.
Os seus contornos brancos contrastavam com o vermelho, como os
port�es de uma c�mara subterr�nea. Pela primeira vez consegui
introduzir o tubo na traqueia sem muito esfor�o.
Mas assim que havia acabado de o introduzir, o paciente
agarrou-o e tirou-o para fora. Senti-me indignado, por um segundo,
at� que me apercebi de que ele estava novamente a respirar. Tinha
agora uma pulsa��o forte. A enfermeira apareceu com o bicarbonato.
Estupidamente, queria dar-lho agora, porque era uma coisa em que
tinha pensado, e elas n�o, e especialmente porque sabia muito
sobre electr�litos, pH e i�es. Mas ocorreu-me o efeito que aquilo
poderia provocar no n�vel de c�lcio. O c�lcio e o pot�ssio
combinavam-se com o pH de uma forma trai�oeira. Corria o risco de
pensar demasiado e estragar tudo, por isso decidi guardar o
bicarbonato; n�o valia a pena continuar.
Ouviu-se subitamente abrir a porta e entrou outro interno,
seguido por dois residentes. Estavam todos estremunhados. Um
deles n�o trazia meias e mostrava vincos no rosto provocados pelas
rugas da almofada. A multid�o continuou a chegar. Teria sido nesta
altura que eu gostaria de ter chegado, quando j� se encontrava
tudo sob controlo e as decis�es seriam gerais. Na realidade,
comecei a acalmar-me, embora tivesse ainda a pulsa��o acelerada.
O pessoal rec�m-chegado instalou-se nas cadeiras e no balc�o. Um
deles folheou a ficha do doente, enquanto outro chamava o m�dico
privado. Mantive-me ao lado do paciente, que come�ara a falar.
Chamava-se Smith.
54
- Obrigado, Doutor. Acho que estou melhor agora.
- Sim, tem todos os sinais disso. Ainda bem que pudemos ajud�lo.
- Os nossos olhos cruzaram-se, os dele mostrando mais confian�a
do que a que achava que merecia, e os meus tentando n�o
denunciar a minha inseguran�a interior. O Isuprel continuava a correr
como louco, e n�o sabia se havia de o abrandar ou n�o. Deixemos
os outros continuarem por um pouco. Mr. Smith queria falar.
- � a terceira vez que isto me acontece, quer dizer, a terceira em
que o meu cora��o decide n�o seguir o pacemaker. Quando isso
acontece, nem tenho tempo para pensar, mas depois, como agora,
tudo se torna uma rotina. Primeiro, sinto a garganta apertar-se, e
depois, subitamente, n�o consigo respirar, mesmo nada, e depois
tudo se torna cinzento e com sombras. - Ouvia-o com aten��o, mas
s� compreendi metade. Era incr�vel estar a falar com um homem que
ainda h� alguns minutos atr�s n�o estava ali.
- Uma sombra, � essa a melhor palavra que consigo achar, uma
sombra que n�o desaparece. Torna-se mais profunda e negra, at�
que n�o existe mais luz, nenhuma luz no mundo. - Parou
abruptamente.
- Mas sabe qual � a parte pior, Doutor? - Abanei a cabe�a
negativamente, sem o querer interromper. - A parte pior � sair dali,
por isso acontece muito lentamente, n�o como se estivesse a
descer, que � r�pido. Primeiro, tenho sonhos ca�ticos e selvagens.
N�o lhes encontro nenhum sentido, at� que, finalmente... e parece
demorar tanto... quarto e as pessoas aparecem. O que n�o consigo
explicar � que a �ltima coisa a vir � o tomar consci�ncia de mim,
quem sou, onde estou, e a dor. Sinto o peito dorido, como se
sofresse de falta de ar, especialmente se tenho um tubo na
garganta.
- Deve ter sido por isso que tirou o tubo. J� fez muitas
opera��es?
- As suficientes para encher um livro. Ao ap�ndice, � ves�cula
biliar...
Interrompi-o.
55
- Lembra-se de como era quando foi anestesiado? J� alguma vez
o foi com �ter? - Essa era uma experi�ncia de que me recordava
bem, embora tivesse ocorrido h� muito tempo, quando tinha 4 ou 5
anos. Nessa altura, toda a gente fazia opera��o �s am�gdalas, e
lembrei-me do terror que sentira quando a m�scara com �ter foi
posta no meu rosto e a sala come�ou a desvanecer-se, e escutara
um ru�do insuport�vel nos meus ouvidos. Depois apareceram c�rculos
conc�ntricos que se moviam cada vez mais depressa, at� se
encontrarem num centro vermelho e brilhante; depois, nada, at� que
acordei a vomitar.
- A minha apendicectomia foi em 1944 - disse Mr. Smith,
recordando-se -, quando estava na marinha, e creio que foi com
�ter.
- Tamb�m foi assim que se sentiu quando o cora��o parou? E
quando recuperou a consci�ncia?
-N�o, n�o foi nada assim. A anestesia � algo agrad�vel, nada
como lutar com o meu cora��o; parece literalmente uma luta para
consegui evitar que salte do meu peito, mant�-lo sob controlo. N�o
me consigo lembrar como acordei das opera��es, mas quando o
cora��o come�a bater novamente � como se tivesse milhares de
pesadelos.
Ergueu-se e tocou na minha m�o, que estava na arma��o da
cama.
- Meu Deus, espero que n�o aconte�a mais. Est� a ver, � que
n�o posso ter a certeza de que esteja aqui algu�m para me ajudar.
Sabe, Doutor, houve mais uma coisa estranha, desta vez, parecia
que estava a ver o meu pr�prio corpo de fora dele, como se
estivesse aos p�s da cama.
- J� tinha tido essa sensa��o antes? - perguntei, agora com
curiosidade. - Sentir-se fora de si pr�prio � um sintoma de
esquizofrenia.
- Nunca. Foi uma sensa��o �nica. Uma sensa��o �nica. - Este
homem falava-me de morrer, mas a maneira com que o fazia tornava
a morte num processo vivo, algo que se poderia estudar num livro.
56
Sem o desfibrilador podia evidentemente estar morto, e com ele
aqueles pensamentos. Esta noite, a linha entre a vida e a morte
quase n�o existira para tr�s pessoas, para este homem, Marsha
Potts e o velho com cancro. Estava com dificuldades em pensar na
vida e na morte ao mesmo tempo, mas estava satisfeito por este
homem n�o estar morto, porque era simp�tico. Mas que ideia
est�pida. De qualquer modo, n�o o podia imaginar morto.
Independentemente do que tinha acontecido, ele n�o teria morrido,
porque estava vivo neste momento.
Isto faz algum sentido? Para mim fazia. Quem era eu para pensar
que podia mudar o destino? Estar vivo, falar e pensar � t�o
diferente de estar morto e im�vel que essa transi��o parece agora
imposs�vel. Havia sido t�o simples, apenas uma fa�sca no
desfibrilador, como se batesse nas costas de algu�m para parar uma
tosse, ou ir a correr buscar um copo de �gua. Talvez ele n�o
estivesse em fibrila��o, talvez se tivesse safado sozinho. J� tinha
acontecido. Nunca saberemos.
Os m�dicos residentes e os internos ainda ali estavam, a
conversar e a ajustar os tubos de pl�stico, co�ando a cabe�a e
verificando o tra�ado do EGG. Tinham um ar satisfeito e
interessado. Dei uma olhada a Mrs. Takura ao sair, que me sorriu e
acenou com o bra�o livre.
o estranho mundo interior dos C. I. desapareceu assim que virei
para o corredor e desci as escadas. A vida parecia adormecida.
Pensei nas noites no continente, quando estava na escola m�dica e
tinha de lutar do apartamento at� ao hospital, com tudo o que o
Inverno tinha para oferecer. Ironicamente, as noites calmas e cheias
como estas pareciam ainda mais dif�ceis, t�o solit�rias que
apetecia praguejar. Todas as noites no Havai eram como esta, clara,
incrustrada de milhares de estrelas e refrescadas por um vento
suave.
S� a ideia de Jan no meu quarto me fazia continuar. Em alturas
como esta, em que as tens�es m�dicas se come�avam a evaporar,
tudo o que conseguia pensar era em fugir �quela solid�o, estar
perto de algu�m vivo e com sa�de, falando com ela e amando-a. Na
57
escola m�dica, acontecera algumas vezes ter uma rapariga � minha
espera no quarto, depois de ser chamado para fazer algo. Era
sempre agrad�vel voltar por isso. Mas acontecera tamb�m diversas
vezes ela resmungar e voltar a dormir assim que me metia na cama.
Aquele algo que os meus colegas na escola m�dica e eu nos
encontr�vamos a fazer a altas horas da noite era quase sempre a
mesma rotina de laborat�rio. A necessidade de an�lises de sangue,
de prote�nas de Bence-Jones parecia ocorrer principalmente antes
da meia noite, para os residentes. Por isso, hav�amos acabado
centenas de vezes por usar o nosso restinho de tempo no que se
pode chamar as entranhas do navio m�dico, contando pequenas
c�lulas sangu�neas, que se tornam ainda mais pequenas com o
passar do tempo. Entretanto, o residente da ponte dirigia o
paciente, reclamando v�rias vezes da lentid�o dos seus contadores
prisioneiros. A verdade sobre as contagens sangu�neas � que,
fazendo uma, fazem-se praticamente todas. O ponto de diminui��o
do rendimento na curva de aprendizagem 4, atingido rapidamente,
particularmente �s tr�s da manh�, quando o c�rebro tem tend�ncia
a querer voltar para o quarto, e talvez para a jovem que aguardava.
Havia feito vinte sete contagens de sangue, um record pessoal,
embora longe do record do hospital. As �ltimas, nessas alturas,
eram, naturalmente, n�o mais que palpites meio calculados. Assim
sucedia nas grandes ligas, onde receb�amos treino pelo pre�o de
4000 d�lares por ano, para t�cnicos de laborat�rio. Todos n�s
imagin�vamos uma situa��o fant�stica onde atir�vamos a urina �
cara dos residentes e lhes diz�amos que enfiassem a garrafa no cu,
ou �amos para o caf� fazer greve. Nada disto acontecia fora das
nossas mentes, porque, para dizer a verdade, est�vamos bastante
intimidados. Como os professores n�o se cansavam nunca de
apontar, havia outros � espera para usar as nossas batas brancas. o
que de facto acontecia era que, mais para a noite, quando nos
sent�amos chateados e explorados, cortava-se aqui e ali um bocado,
e inventava-se um resultado plaus�vel. Mas isso poucas vezes
acontecia, e s� � noite.
58
Mas o pior de tudo era depois, quando n�o t�nhamos quem nos
escutasse. Tudo parecia adormecido e indiferente �s convic��es de
que a prepara��o m�dica era fraca e irrelevante. Por isso,
apress�vamo-nos a ir para o quarto, para a rapariga adormecida,
gratos finalmente pelo seu corpo quente.
Alguns estudantes casaram-se no princ�pio da escola m�dica.
Suponho que n�o se sentiam t�o s�s, tendo o tal corpo quente
omnipresente. E os primeiros dois anos foram �ptimos - cursos
durante o dia e estudar os livros durante a noite. Devem ter-se
divertido imenso.
Mas era diferente, quando as contagens do sangue apareceram
nos �ltimos dois anos, e todas as outras coisas chatas a meio da
noite. Penso que alguns desistiram de tentar comunicar a sua
frustra��o. o corpo quente n�o era o suficiente. De qualquer modo,
muitos deles j� se haviam separado quando recebemos o peda�o de
papel a dizer que �ramos Doutores em Medicina. �ramos, na
realidade, campe�es em contagens de sangue, doutores em
Conceitos e no trivial do Laborat�rio. Nenhum de n�s sabia que
dose de Isuprel poderia salvar uma vida.
Quando abri a porta, n�o sabia se havia de fazer barulho ou
andar silenciosamente. Ganharam os instintos mais bondosos, e
assim que a luz do corredor penetrou no quarto, fechei rapidamente
a porta e descalcei os sapatos. o quarto estava mergulhado num
sil�ncio profundo, e t�o escuro que n�o me poderia ter movido se
n�o conhecesse a localiza��o da mob�lia. E que mob�lia!
Claro que o leito de hospital onde eu dormia tinha umas
caracter�sticas interessantes. Podia subir de modo a ter uma posi��o
t�o confort�vel para ler os livros que nunca conseguia ler mais que
dois par�grafos sem adormecer.
o resto da mob�lia inclu�a um cadeir�o mais duro que uma pedra
e uma secret�ria feita para uma crian�a. Se lhe pusesse os cotovelos
em cima, n�o tinha espa�o para o livro, especialmente se fosse
daqueles calhama�os enormes que s�o t�o populares hoje em dia
entre as editoras de livros de Medicina. Ao mover-me no escuro, o
�nico obst�culo potencial seria a prancha de surf que havia
59
pendurado no tecto. Consegui ver gradualmente o contorno dajanela
e a cama, e pus a m�o dentro dos len��is, correndo-os de um lado
para o outro, cadavez mais r�pido, at� ter a certeza de que ela se
fora mesmo embora. Sentei-me na beira da cama, racionalizando
que estava exausto de qualquer modo, ela n�o teria provavelmente
querido conversar. J� passava das duas e estava exausto; realmente
estava.
o telefone tocou mais tr�s vezes nessa madrugada. As duas
primeiras n�o eram suficientemente importantes para ir, eram
apenas enfermeiras com perguntas sobre ordens e sobre um
paciente que precisava de um laxante. Fiz um pequeno estudo
independente no que diz respeito aos laxantes. Os estudos provam
conclusivamente que cinco entre seis enfermeiras pedem dez vezes
mais os laxantes entre a meia-noite e as seis da manh� do que em
outra qualquer altura do dia. Em rela��o �s raz�es, estas s�o
dif�ceis de imaginar, indo desde a interpreta��o Freudiana das
ressacas anais profissionais de enfermagem. De qualquer modo,
sentia que era quase um acto criminoso acordarem-me por causa de
um laxante.
Cada vez que o telefone tocava, dava um salto na cama,
enquanto a adrenalina me penetrava nas veias. Na altura em que
pegava no auscultador, o meu cora��o batia fortemente. Mesmo que
n�o fosse coisa importante, levava cerca de meia hora para acalmar
depois de cada telefonema, de modo a poder dormir. Numa dessas
noites, ao atender o telefone meio a dormir, s� conseguia ouvir
murm�rios distantes. Gritei para falarem mais alto, fechando os
olhos e concentrando-me, mal conseguindo ouvir as palavras
long�nquas. Estavam a dizer-me que estava a falar para o lado
errado do auscultador.
A terceira chamada era o oposto do espectro do meu medo de
n�o saber o que fazer. Claro que podia resolver; at� uma crian�a de
4 anos poderia. Mrs. Fulana tinha ca�do da cama. Os pacientes
normalmente n�o se magoam quando caem da cama - n�o est�o
presos, e para al�m disso as enfermeiras sabem o que devem fazer.
60
Nada disso interessava � administra��o do hospital. Desde que
tivessem ca�do da cama, o interno tinha de lhes ir dizer ol�, fosse
qual fosse a hora.
Levantei-me, e senti-me... - como explicar? - n�o era bem
nauseado, embora estivesse mal do est�mago, e n�o tivesse febre
alta, mas sentia a testa t�o quente que nela poderia fritar um ovo.
A melhor nomenclatura seria uma descri��o. Sentimo-nos como seria
de esperar ao sermos acordados �s quatro da manh� depois de
termos apenas dormido duas horas, durante as quais hav�amos sido
acordados assim que adormec�amos. Tinha-me deitado finalmente
ap�s ter trabalhado cerca de vinte horas, exausto f�sica e
emocionalmente, para ter de me levantar para ajudar algu�m que
havia "ca�do" da cama sem se magoar. Na realidade, a maior parte
deles apenas ca�am no ch�o a caminho da casa de banho. Mas,
fosse qual fosse a forma como haviam ca�do, as enfermeiras davamlhe
sempre o nome de queda, mesmo que estivessem longe da
cama, e l� �amos n�s, na observ�ncia de uma legalidade absurda.
Este formalismo era ainda mais absurdo quando
compreend�amos que o hospital depende destas mesmas
enfermeiras para determinar o estado f�sico de um paciente e
chamar o m�dico, se necess�rio for. Mas, por alguma raz�o
inexplic�vel, n�o se pode contar com elas para verificarem se o
paciente se magoou ou n�o ao dar uma queda. H� no entanto mais,
muito mais que algo in�til e arbitr�rio que se tem que fazer. Cerca
de metade do tempo, desde o terceiro ano da escola m�dica, foi
despendido na procura do in�til e do arbitr�rio, e � justificado pela
explica��o di�fana de que tudo isso � necess�rio para se ser um
estudante de Medicina ou interno, e para nos tornarmos m�dicos.
Tretas. Este tipo de coisa � apenas para nos atormentar e uma
imposi��o de tarefas desnecess�rias, uma esp�cie de rito de
inicia��o para a entrada na Associa��o M�dica Americana. o
sistema funciona; meu Deus, como funciona! Eis a profiss�o m�dica,
moldada em perfei��o, c�rebros lavados, estreitamente
programada, de direita nas suas tend�ncias pol�ticas e
61
completamente dedicada � aquisi��o de dinheiro.
Remo�a caoticamente estes pensamentos enquanto me dirigia
para o elevador e carregava no bot�o com for�a, com certa
esperan�a de partir aquela engenhoca. Ao voltar para o hospital,
tentei n�o acordar completamente ao passar por aqueles corredores
sonolentos em direc��o aos pontos de luz long�nquos.
Contei certa vez a um amigo, que n�o estava em Medicina, as
variadas raz�es por que era o meu sono interrompido �s quatro e
meia da manh�. N�o acreditou. Era demasiado inquietante para ele.
Destro�ava a sua imagem colorida do interno subitamente acordado,
ansioso, vestido de branco, a correr pelos corredores, a subir as
escadas de tr�s em tr�s degraus, para salvar uma vida. E aqui
estava eu, sentindo-me sujo e a cambalear pelo corredor
praguejando baixo, a caminho de dizer, "Como est�, paciente?...
�ptimo, Doutor... ainda bem... Descanse agora, e por favor n�o volte
a cair da cama."
Faltava j� um quarto para as seis, j� era dia, quando o telefone
tocou mais uma vez. Pus os p�s no ch�o, levantei-me lateralmente,
usando os bra�os para me erguer. Senti novamente aquele malestar,
e uma tontura moment�nea at� que o ch�o frio me despertou.
Apoiei as m�os no lavat�rio e encostei-me a ele por um segundo.
No espelho, os meus olhos eram como vistas a�reas de lavaquente
a correr para um lago de lama. A �nica raz�o por que as olheiras n�o
chegavam aos cantos da minha boca era porque n�o conseguia
sorrir. Ah, mas um Pouco de �gua fria resolveria a situa��o.
Segurando-me com apenas uma m�o, molhei ligeiramente o rosto.
Esta manh� nada havia de particularmente novo ou diferente.
Era apenas uma manh� como as outras. Havia trabalhado em duas
semanas de tal modo, sem quase dormir, que mesmo tendo dormido
seis horas seguidas me sentia da mesma forma. A l�mina de
barbear, mais viva que eu, deixou diversos pontinhos de sangue na
minha garganta. Ao misturar com a �gua, parecia ser muito sangue,
e, em combina��o com os meus olhos e as olheiras, faziam-me
parecer um tipo da Mafia.
Cerca de trinta segundos depois, senti-me suficientemente
62
recomposto para me vestir. o estetosc�pio, a lanterna, uma s�rie de
canetas de cores diferentes, bloco de notas, pente, rel�gio, carteira,
cinto, sapatos, seguindo a minha lista mental. Verificar se as meias
eram iguais. N�o posso dar mau aspecto ao s�tio. Dei uma �ltima
olhada em volta do quarto para me certificar de que nada faltava,
algum papel, ou algum livro. Deixei o quarto, satisfeito, usei o
elevador e sa� para o ar da manh�.
Fazia sempre quest�o de dar uma volta em frente do hospital
antes de me dirigir para a cafetaria. Conseguia p�r-me mais bemdisposto,
de algum modo. O c�u estava nessa manh� de um azulp�lido
e long�nquo, ponteado por pequenas nuvens, em parte
banhadas a leste por tons vermelhos-dourados; para oeste, as cores
esmoreciam mais para rosa e violeta. A relva brilhava e havia
p�ssaros por todo o lado, com grande algazarra. Predominavam dois
tipos de p�ssaros, os main�s, que se pavoneavam por ali com
estranhos comportamentos, e a guincharem de forma desafinada e
rabugenta, e os mais discretos pombos, movendo-se mais
lentamente, quase delicadamente, parecendo alguns deles
bambolearem-se ao abrir as penas das caudas, arrulhando
melodiosamente. Gostava daquele pequeno passeio matinal. Eram
s� alguns metros, mas fazia-me feliz.
Seis da manh� n�o � para mim a altura ideal para se ter um
grande pequeno-almo�o, especialmente depois de uma noite em
branco. Forcei-me contudo a comer, enchendo a boca com a comida e
pondo toda a minha confian�a na �gua para a engolir. Sabia por
experi�ncia que voltaria a ter fome dali a uma hora ou duas, quando
me seria imposs�vel voltar a comer. Al�m disso, por causa do
sistema de hor�rios, perdia muitas vezes a hora de almo�o. Podia
n�o ter oportunidade de comer durante mais oito ou dez horas.
Depois do pequeno-almo�o, tinha cerca de meia hora para ver
os meus doentes antes de os turnos come�arem, a um quarto para
as sete. Era importante ter tudo em ordem antes, para conhecer as
�ltimas altera��es. Os dos C. I. eram os primeiros. Nunca me
importava de ir l� de manh�, ou em qualquer altura durante o dia.
63
Havia sempre outros m�dicos que colmatavam aquela sensa��o de
se estar sozinho num fio de alta tens�o. Mrs. Takura dormia
calmamente depois da medica��o pr�-operativa; ainda tinha o tubo
enfiado na narina, e o nariz enrugado com a tens�o. Pulso,
resultados da urina, tens�o arterial, respira��o, temperatura,
electr�litos, BUN, tempo de protrombinas, prote�nas, bilirrubina...
todos os testes recentes ali estavam registados, Fiz uma pausa para
anotar o seu estado na folha seguinte, desejando que ela estivesse
pronta.
No outro canto, as m�quinas de Mr. Smith continuavam o seu
bip, mostrando um ECG que parecia ser normal, embora eu n�o fosse
um especialista em analis�-los, especialmente no oscilosc�pio.
Estava a dormir. Dirigi-me �s enfermarias.
Numa delas, havia mais variedades e quantidade que crises
propriamente ditas. Tinha v�rios pacientes, representantes de
diversos tipos de pessoas e de problemas. Na sua maior parte,
estavam a recuperar de uma cirurgia e progrediam de v�rios estados
do p�s-operat�rio, desde o tirar dos pontos � exaust�o. o
comprimento dos seus drenos era geralmente uma boa indica��o
dos dias passados ap�s a opera��o. Os drenos eram um pouco
embara�osos, mas eram uma parte importante na pr�tica da cirurgia.
Eram introduzidos profundamente na incis�o no final da opera��o, e
serviam como escoadouro de qualquer l�quido, e para baixar a
infec��o. A ideia era extrair o dreno para fora, cent�metro a
cent�metro, come�ando no segundo dia ap�s a opera��o, e
deixando assim a ferida curar-se de dentro para fora.
Os doentes n�o conseguem entender os drenos. Para eles, os
peda�os oscilantes de borracha p�lida eram uma fonte de
reclama��es e desconforto, principalmente psicol�gico. Mr. Sperry
estava a dois dias de ter realizado a opera��o a uma �lcera
g�strica, e estava na altura de tirar o seu dreno. Prendi-o com um
gancho e dei-lhe um bom pux�o. Mas s� saiu um bocado, de tal
modo que parecia um macarr�o chin�s. Mr. Sperry olhava fascinado,
da sua posi��o, sentado entre duas almofadas, com os olhos muito
abertos, e com as m�os a agarrarem fortemente o len�ol. Ao puxar o
64
tubo mais uma vez, perguntei a mim pr�prio se n�o teria sido cosido
� carne, quando ele gradualmente se soltou e avan�ou alguns
cent�metros. Um pouco de fluido sero-sangu�neo saiu com o tubo e
foi rapidamente absorvido com gaze.
- Doutor, tinha mesmo que fazer isso?
- Bem, n�o quer sair daqui com o tubo pendurado, ou quer?
- N�o.
Pus um grampo de seguran�a no dreno, mesmo acima da pele,
para evitar que o tubo recuasse para dentro da incis�o, e depois,
com uma tesoura esterilizada, cortei o excedente do tubo. Era
importante fazer tudo na ordem certa, neste tratamento. Uma vez,
antes de saber faz�-lo, cortei o tubo antes de prend�-lo. o paciente
tinha estado a conter a respira��o durante esse tempo e quando
inalou, por fim, o dreno desapareceu dentro do abd�men.
Apareceram-me logo vis�es de uma nova opera��o, mas felizmente
um residente conseguiu retir�-lo ap�s ter tirado tr�s suturas e ter
andado a pescar com um forceps.
- Por que � que n�o me anestesia quando puxa? - perguntou Mr.
Sperry, olhando para mim.
- Mr. Sperry, anestesi�-lo n�o � uma coisa t�o simples como
pensa. Al�m disso, h� sempre algum risco na anestesia, mas n�o
existe risco algum em puxar o dreno.
- Sim, mas pelo menos n�o dava por isso.
- Doeu-lhe realmente, quando o retirei?
- Um pouco, e senti-me esquisito por dentro, como se me
estivesse a separar.
- Mas n�o se est� a separar, Mr. Sperry. Est� a ir muito bem,
- Mas tem de puxar com tanta for�a? - continuou.
- Olhe, Mr. Sperry, amanh� p�e o senhor as luvas, dou-lhe a
pin�a e pode tir�-lo o senhor. Que tal? - Sabia qual ia ser a
resposta.
- N�o, n�o, n�o quis dizer que queria ser eu a faz�-lo. Na
realidade, sabia ao que ele se referia. Depois de uma opera��o que
fiz �s pernas, achei que o m�dico havia sido muito bruto ao tirar os
65
pontos. Mas n�o queria ter sido eu a tir�-los. � bom para um m�dico
ser paciente de vez em quando; torna-o mais receptivo aos medos
irracionais dos pacientes. A solu��o � contar ao paciente tudo o que
se est� a fazer, mesmo as coisas mais simples, porque, na maior
parte das vezes, o que mais assusta o paciente � aquilo que ele
imagina.
- Mr. Sperry, pode andar por a� quando quiser; de facto, algum
movimento at� lhe ir� fazer bem. N�o vai abrir-se. Isto do dreno �
um procedimento normal. Tira-lhe os l�quidos prejudiciais enquanto a
incis�o sara. o grampo est� l� apenas para impedir que o tubo
entre para o seu abd�men.
Estava tudo bem com Mr. Sperry, embora lhe tivesse dado que
falar para o resto do dia: como o m�dico cruel havia arrancado o seu
dreno e aberto as suturas, fazendo-o sangrar.
Era esta a rotina da enfermaria: verificar os drenos, mudar
pensos, responder a perguntas, verificando os gr�ficos de
temperatura. Embora Marsha Potts n�o fosse minha paciente, parei
em frente � sua porta quase instintivamente. Parecia ter pior
aspecto, com a luz do dia que expunha a sua cor amarelada, e a
pele enrugada do seu rosto t�o magro que parecia ter um sorriso
perp�tuo. Estava muito mal; est�vamos a fazer tudo o que pod�amos
por ela, mas n�o era o suficiente. L� fora onde a relva fazia a sua
entrada no edif�cio, os p�ssaros guinchavam e debicavam peda�os
de p�o atirados pelos pacientes que passeavam.
Eram j� sete horas e a enfermaria fervilhava de vida,
subitamente inundada pelos tabuleiros do pequeno-almo�o e pelo
ru�do dos var�es, das IV, quando os pacientes iam � casa de banho.
As enfermeiras andavam apressadas, trazendo arrastadeiras,
agulhas, pomadas e medicamentos. J� n�o me sentia cansado,
inserido neste mundo, pelo menos enquanto estivesse de p�. Era
uma rotina jovial; parecia dizer "Aqui ningu�m morre, est� tudo sob
controlo". No meio de toda essa efici�ncia, Roso estava sem reac��o
por causa da Sparina. Tive de aban�-lo diversas vezes para
conseguir alguma reac��o. Mas, j� meio acordado, concordou que se
66
sentia mais forte, antes de adormecer novamente.
Uma t�cnica do laborat�rio havia-me pedido para tirar o sangue
de um paciente com veias m�s. Havia tentado tr�s vezes sem
sucesso. Claro que iria tentar, e com boa vontade, porque era para
mim um grande conforto ter comigo estes t�cnicos para tirarem
sangue de manh�. Pode parecer irrelevante para os leigos, mas os
estudantes de medicina passavam todas as manh�s antes dos
turnos a tentar tirar sangue dos pacientes; quando come�avam os
turnos, n�o tinham tido tempo de ver todos os seus pacientes e n�o
sabiam, portanto, da sua evolu��o. Quando come�avam as
perguntas - "Qual � o hemat�crito do paciente, Peters?" - t�nhamos
que adivinhar, porque n�o havia sequer hip�tese de verificar a
ficha. Mas n�o devia parecer um palpite. Havia que responder sem
hesita��es. "Trinta e sete!", como se se apostasse nisso a pr�pria
vida. N�o era uma quest�o de honestidade. Era melhor tentar jogar
o jogo do que provocar uma cat�strofe, dizendo que n�o se sabia,
fosse qual fosse a raz�o. Ningu�m se interessa verdadeiramente se
se fez ou n�o essas trinta e sete contagens, a n�o ser que n�o
tenham sido feitas. Por isso, era melhor dizer rapidamente trinta e
sete, de modo que na maior parte das vezes o professor nem tinha
tempo para pensar. Mas se tiver, a� j� h� problemas, a n�o ser que
se consiga distra�-lo referindo o artigo mais recente sobre a doen�a.
Claro que, se ele verificar a ficha, vai verificar que n�o � verdade, a
n�o ser que, numa hip�tese remota, o hemat�crito seja realmente
trinta e sete; de outro modo, o melhor � dizer humildemente que se
estava a pensar em outro paciente. Isto iria dar a �ltima pausa
fatal, enquanto o professor ia folheando a ficha, procurando outra
quest�o.
- E em rela��o � bilirrubina, Peters?
Agora estava realmente entre a espada e a parede,
confrontando uma jogada de tudo ou nada. Se o palpite da
bilirrubina tamb�m estivesse errado, o professor come�aria a pensar
que estava a ser desleixado com o paciente, e isso espalhar-se-ia
como um v�rus no hospital. Mas se a resposta estivesse certa, era-se
devolvido ao estado de gra�a e o professor dirigia-se a outro aluno.
67
A bilirrubina � diferente do hemat�crito no sentido em que este
�ltimo varia bastante, em qualquer pessoa, enquanto que o valor da
bilirrubina � praticamente Sempre o mesmo em qualquer pessoa,
excepto em problemas de sangue ou f�gado. Por isso, joga-se,
dizendo: "Estava, em cerca de um, Doutor", A maior parte dos alunos
aprendeu a jogar o jogo, na escola m�dica; se se jogasse bem,
ganhava-se mais vezes do que se perdia.
No Havai, t�nhamos os t�cnicos para nos aliviarem desse
encargo, e n�o me importava de os ajudar ocasionalmente. Al�m
disso, era bastante bom a faz�-lo. Tinha de ser mesmo, depois de
ter tirado centenas de litros de sangue na escola m�dica.
Come��mos por tirar sangue uns aos outros, o que era r�pido,
embora alguns o fizessem parecer muito dif�cil. Nem mesmo este
exerc�cio havia escapado a alguns momentos tr�gicos. Umavez, ap�s
ter apalpado vigorosamente a veia do bra�o de um estudante mais
adiantado, deixei-a saliente como um cigarro barato. o torniquete
tinha estado atado durante cerca de quatro minutos, enquanto eu
ganhava coragem, e, quando finalmente introduzi a agulha, o meu
colega desaparecera. Fora tudo muito r�pido. Fui directamente da
concentra��o na agulha a entrar na pele para ficar a olhar para ela
sem bra�o. o meu "paciente" estava desmaiado no ch�o. Todos
tem�amos essas sess�es de pr�tica, mas era mais f�cil que tirarmos
sangue a n�s pr�prios.
Nunca hei-de esquecer a primeira vez que tirei sangue a um
paciente. Passou-se no terceiro ano, quando come��ramos com a
Medicina de enfermaria. Por infelicidade, o meu primeiro dia
coincidiu com a mudan�a de turno dos internos e residentes. Para os
novos residentes, era uma oportunidade irresist�vel. Decidiram
verificar todos os diagn�sticos dos pacientes, e para isso
necessitavam de provas - factos claros, provas incontroversas de
laborat�rio. Como resultado, todos n�s estudantes tivemos que tirar
um quarto de litro de sangue a cada paciente que nos estava
destinado. o meu primeiro, coitado, era um alco�lico cr�nico que
sofria de uma cirrose do f�gado bastante adiantada. As suas veias �
68
superf�cie haviam desaparecido h� anos, e tive de o picar doze
vezes, tacteando com a agulha pelo seu bra�o, sentindo a ponta de
cada agulha entrar atrav�s de estruturas interiores com um som de
liberta��o quase aud�vel. Tive finalmente o bom senso de desistir e
receber a instru��o do interno em como introduzir a agulha na
grande veia femoral nas virilhas, um sistema conhecido como jun��o
femoral.
A t�cnica de laborat�rio estava neste momento a ter mais ou
menos o mesmo problema com um certo Mr. Schmidt, a quem apalpei
as veias normais dos bra�os, enquanto ela me dava a seringa. Era
�bvia a raz�o por que ela n�o conseguia extrair uma gota sequer;
n�o se conseguia sentir uma �nica veia decente no bra�o. Fiz, por
isso, uma jun��o femoral, e foi r�pido.
Um pouco mais � frente, encontrava-se Mr. Polski, que era para
mim um problema porque falhara em conseguir manter-me em
contacto com ele. Sofria de diabetes, circula��o perif�rica pobre e
uma infec��o profunda no p� direito. Havia feito, uma semana
antes, uma simpatectomia lombar, tendo-lhe sido cortados os nervos
que eram respons�veis pela contrac��o dos vasos sangu�neos na
parte inferior das pernas. Mas n�o apresentava melhoras
significativas. Insistia em p�r a perna fora da cama, por causa das
dores, e isso apenas inibia a j� fraca circula��o. Experimentei, ao
princ�pio, aproximar-me amavelmente, tentando explicar-lhe
cuidadosamente o que aconteceria se deixasse assim a perna.
Mesmo assim, quando o ia ver todas as manh�s, l� estava ela,
ca�da para fora da cama. Mudando de t�ctica, fingi-me zangado,
gritando um pouco, mas nada disto alterou a situa��o, a n�o ser
que ele passou a gostar menos de mim. O p�, agora negro e
gangrenoso, j� havia sido marcado para a amputa��o.
Acenei com a cabe�a a Mrs. Tang, uma idosa senhora chinesa
que tinha um cancro a crescer-lhe na boca. N�o podia falar, por isso
cumpriment�vamo-nos assim. o cancro era de tal modo enorme que
lhe havia dissolvido os dentes e parte do maxilar do lado esquerdo,
acabando por se tornar finalmente uma massa incontrol�vel,
69
fungiforme, que lhe aparecia ocasionalmente na garganta. Ela era
como muitos dos chineses idosos que imaginavam o hospital apenas
como um local para morrer, e s� c� vinham quando estavam mesmo
no fim. N�o pod�amos fazer muito por ela, mas tent�mos a terapia
de raios-X. o cancro crescia de dia para dia e Mrs. Tang parecia
cada vez menos real, talvez pelo facto de n�o poder falar, ou talvez
porque estivesse resignada.
Mas havia mais: uma bi�psia a um n�dulo de linfa, uma bi�psia
da mama e duas repara��es de h�rnias. Cumprimentei-os a todos,
indo de cama em cama, chamando-os pelos nomes; agora j� os
conhecia a todos. Conhecia mesmo as fam�lias de muitos dos
pacientes que haviam estado connosco por algum tempo. Chegou
outro interno, e uma s�rie de residentes, incluindo o residentechefe,
e come�aram as rondas da manh�. Era uma coisa r�pida;
dev�amos provavelmente parecer um bando de main�s, movendo-nos
pouco �-vontade e rapidamente, trope�ando quase sempre uns nos
outros com a pressa, enquanto percorr�amos cama a cama. Esta
pressa era necess�ria uma vez que s� t�nhamos meia hora antes da
primeira opera��o marcada. N�o houve discuss�o de artigos, n�o
fizemos muito mais que contar cabe�as para termos a certeza de que
ainda estavam todos l�. Gastrectomia, cinco dias de p�s-operat�rio,
indo devagar. H�rnia, tr�s dias de p�s-operat�rio, descarga
prov�vel. Veias varicosas, tr�s dias de p�s-operat�rio, descarga
prov�vel tamb�m. �lcera g�strica, tratamento completo raios-X,
cirurgia marcada. T�nhamos a radiografia da �lcera? Sim. �ptimo.
Na outra enfermaria, deix�mo-nos ficar no meio, rodando em
volta sobre os calcanhares. Les�o maci�a, med�astino, aortograma
pendente. Fiz uma descri��o em staccato tipo c�psula de cada um
dos meus pacientes. o outro interno fez o mesmo. Havia quatro
enfermarias como aquela, e acab�mos o �ltimo caso na quarta,
dezassete minutos exactos depois de termos come�ado.
- Peters, fa�a outra venostomia a Mrs. Potts enquanto nos
dirigimos aos C.I. e � zona de pediatria.
o pequeno grupo desapareceu na esquina do corredor e eu
dirigi-me ao quarto de Mrs. Potts, irritado e confuso, protestando em
70
sil�ncio. Ela nem sequer era minha doente. Sabia que havia sido
escolhido porque n�o tinha nenhuma cirurgia marcada antes das
oito, embora seja normalmente �s sete e meia, mas mesmo assim
n�o me queria envolver com ela outra vez, depois de ter feito figura
de parvo com a press�o venosa na noite anterior. E al�m disso, uma
venostomia pode ser complicada. N�o tinha feito muitas. Mas era
principalmente devido ao ambiente. Mesmo assim, Marsha Potts
necessitava de uma venostomia porque precisava de l�quido
intravenoso e alimento; sem as veias superficiais que eram
necess�rias para a IV, ter�amos de cortar uma veia mais profunda.
Ao entrar no quarto, a alegria da manh� esmoreceu. Mesmo o
som dos p�ssaros se tornou para mim inaud�vel, embora estivessem
l�, evidentemente. Havia no ar um odor quase insuport�vel, t�o
c�ustico e repugnante que fazia o ar parecer pesado. Era o cheiro
quente de tecidos apodrecidos misturado com o cheiro doce e
meloso do talco perfumado utilizado para se contrapor ao mau
cheiro. o talco ainda me fez sentir pior. Tentando n�o olhar para o
rosto da pobre mulher, pus tr�s m�scaras cir�rgicas para fugir ao
cheiro, mas estava com dificuldades em respirar assim e o meu
diafragma lutava para respirar o ar espesso. N�o queria tocar nas
coisas. A morte parecia estar em todas elas, como se fosse
contagiosa.
Levantei o len�ol na parte inferior e destapei-lhe o p� esquerdo.
Tinha �lceras abertas na parte de dentro da perna e na parte de
tr�s do tornozelo. Na realidade, tinha �lceras por todo o corpo, onde
quer que lhe tocasse. Ap�s ter verificado com a lanterna o aspecto
m�dio do tornozelo, calcei as luvas de borracha e abri o estojo
esterilizado da venostomia.
A l�mina deslizou pela pele sem oferecer resist�ncia. Tinha um
pequeno edema no p�, de modo que um l�quido claro escorreu da
ferida, em vez de sangue. Tive sorte em encontrar logo a veia, e
ainda mais sorte em n�o a ter cortado acidentalmente. Depois de
ter feito um pequeno furo na veia, introduzi facilmente o cat�ter, �
primeira, enquanto o suor escorria da minha testa, com o calor da
71
luz forte. Atei o cat�ter com seda no lugar e fechei a pequena
ferida, enquanto observava o l�quido a correr livremente. Empurrei o
estojo com o p�, tirei as luvas e dirigi-me rapidamente para a luz do
sol e os p�ssaros.
Ao lavar as m�os, senti-me enojado comigo pr�prio, e n�o sabia
exactamente porqu�. Ela era um ser humano; eu devia ajud�-la. Mas
a situa��o e a sua condi��o revoltavam-me de tal modo que tinha
dificuldades em aceitar a responsabilidade. Onde estava a minha
simpatia? Para onde me dirigia eu?
Tinha a minha primeira lavagem �s oito horas, uma
colecistectomia, ou remo��o da ves�cula biliar, com um cirurgi�o
particular. A minha paciente, Mrs. Takura, estava marcada para outra
sala de opera��es, a seguir a uma remo��o de g�nglios; a sua
opera��o deveria iniciar-se �s nove horas, a n�o ser que houvesse
complica��es com o caso dos g�nglios. Estava obviamente atrasado
para Mrs. Takura, mas isso era t�pico. o interno � uma esp�cie de
pe�o no jogo m�dico; � o primeiro na linha de defesa, sacrificado
sem remorsos, dispens�vel no fim, mas necess�rio, ao que parecia,
no meio.
Entrei no vesti�rio dos cirurgi�es e comecei a vestir a bata
verde p�lida. Estava t�o cheio que nos incomod�vamos uns aos
outros, na brincadeira. De facto, o sentimento de igualdade e
reconhecimento de todos como pessoas fazia que a lavagem fosse
um prazer. Na escola m�dica, os estudantes e o pessoal da casa
vestiam-se em �reas diferentes, separadas por portas e uma
escadaria separada do sanctum sanetorum das �reas de vesti�rios
dos m�dicos. Era como se a imagem de um cirurgi�o fosse abalada
se o vissem no seu estado natural. Um dos m�dicos assistentes da
escola era de tal modo temido que os estudantes tremiam ao
apresentar os seus casos. Um amigo meu - um m�dico excelente,
embora um pouco inclinado ao pavor do palco - teve certa vez um
lapso total de mem�ria perto de um doente quando come�ara a
relatar os factos ao m�dico assistente. Eu sabia que ele estava
preparado, mas n�o conseguia falar.
72
- Esta mulher apresenta um... han... um... - Corou, e a sua
pulsa��o acelerou-se, martelando-lhe no pesco�o. o m�dico poderia
Ter aliviado esta situa��o sugerindo que voltar�amos ao caso mais
tarde, ou mesmo dando uma palavra-chave da lista para desenrolar
a cadeia na mem�ria do aluno. De forma alguma. Enfureceu-se,
come�ando a gritar que era realmente espantoso como uma pessoa
t�o est�pida havia conseguido entrar na escola m�dica, e
mandando-o desaparecer da vista dele at� conhecer suficientemente
bem os casos dos pacientes para os poder apresentar. Nem todos
os m�dicos eram assim, mas pelo menos uma parte significativa era.
Naturalmente, depois de um epis�dio destes, a rela��o entre o
paciente e o aluno n�o era muito boa quando, na manh� seguinte,
chegava a hora de tirar sangue. Com o passar do tempo, muitos
detalhes do que se passou na escola m�dica v�o-se desvanecendo
e integrando na generalidade. o mesmo n�o acontece, penso eu,
com as cenas dos discursos ret�ricos e com a exalta��o de alguns
cirurgi�es insuport�veis. Alguns tinham reac��es t�o violentas que
quase pareciam odiar os estudantes de Medicina; e eram contudo
os nossos mentores, os nossos professores e modelos a seguir.
Depois da bata verde, calcei as botas de tela e arrastei-me ao
longo do corredor da cirurgia. Algumas das portas da SO estavam
fechadas, e ao passar ao longo das suas janelas pude ver os grupos
tipo Ku Klux Klan agrupados no centro da sala. Havia outras portas
abertas, algumas opera��es a decorrer, e outras vazias � espera.
Moviam-se a� dezenas de enfermeiras, muito organizadas e
ocupadas, muitas delas bastante bonitas - um grande melhoramento
para quem usava aqueles fatos sem formas, e o cabelo apanhado
debaixo da touca. Havia contudo outras que poderiam muito bem
jogar � defesa pelos New York Giants, mesmo sem equipamento e
submetendo o oponente s� pelo susto. Todas deram os bons dias;
era um s�tio amig�vel.
Quando voltei para os lavabos, para me lavar para a opera��o �
bexiga, j� l� estavam o cirurgi�o e o residente. Este �ltimo era
oriental, pequeno, silencioso e respeit�vel. Sorri para mim mesmo,
ao lembrar-me da descri��o do meu amigo Carno, que o descrevera
73
como sendo t�o pequeno que tinha de correr debaixo do chuveiro
para se conseguir molhar. Ao sorrir, fiquei com comich�o debaixo da
m�scara. Era incr�vel como me acontecia sempre isso. Era sempre
depois de me lavar que me surgia a comich�o, geralmente no nariz
ou na testa. Claro que n�o me cocei durante a opera��o e at� me
ter lavado de novo. o que me dava algum al�vio era ir fazendo
trejeitos na face e franzir o sobrolho, mas ela l� continuava,
flutuando no meu grau de concentra��o no que estava a fazer. Era,
para mim, a parte mais aborrecida da opera��o, para al�m dos
retractores.
- o seu nome � Peters, n�o �? De onde �? Em que escola andou?
Ah, � um dos rapazes do leste?
Ali estava, preconceitos do outro lado. Parecia-me agora uma
loucura o facto de uma das minhas motiva��es mais fortes para ir
para a escola m�dica ter sido a ideia de me tornar um membro de
uma fraternidade educada, um grupo cuja dedica��o e treino
deixava para tr�s as trivialidades e a mesquinharia da sociedade
de todos os dias. Nem preciso de referir que j� n�o creio mais nessa
ilus�o; j� me tinha visto livre dela na escola m�dica. No entanto, a
competi��o para a entrada nas escolas m�dicas era t�o intensa
que, se se conseguisse entrar para uma das grandes escolas, isso
significava invariavelmente que se tinha sido brilhante na
universidade, geralmente sempre com vinte valores. Da� que os que
tinham sido escolhidos para ficar na quinta ou sexta escola m�dica
sentiam-se geralmente v�timas do sistema, cuja performance havia
sido avaliada pela realidade dif�cil e imut�vel do transcrito.
Achavam que os que estavam no topo das torres de marfim os
olhavam como cidad�os de segunda classe. Era um disparate. Vinha
toda a gente daquela enorme m�quina m�dica e todos pareciam
iguais e dotados dos mesmos pensamentos e com a mesma licen�a
para exercer medicina. Era a parecen�a entre eles que me
assustava, n�o as suas diferen�as, que eram superficiais. Comecei
mais tarde a suspeitar de que a m�quina estava a produzir um
produto desequilibrado.
74
Fazer a lavagem era uma rotina invari�vel e mon�tona de dez
minutos. Primeiro as unhas, depois uma lavagem geral e por fim a
escova. Cada peda�o abaixo dos cotovelos, e depois cada dedo
individualmente. Recome�ar. V�rias vezes.
Quando acabei, escorreguei para o ch�o, primeiro com o
traseiro; era o s�mbolo perfeito da posi��o do interno, com as m�os
erguidas em sinal de rendi��o e submiss�o. Demasiado teatral. Na
realidade, sentia-me agora resignado. Afinal, havia sido minha a
decis�o de entrar para Medicina; nenhum Romeu havia querido
tanto assim a sua Julieta. Era uma pena ela se ter tornado numa
cabra. Estes devaneios pseudofilos�ficos n�o levavam a parte
alguma, n�o modificavam coisa alguma, mas ajudavam a passar
aquelas horas intermin�veis na SO.
Toalha, m�scara, depois as luvas, dadas por uma enfermeira
bastante negligente cujos olhos n�o conseguia ver, e estava
completa rotina. Enfaix�mos o paciente enquanto o cirurgi�o, que
era meio avaiano, e o anestesista, oriental, mantinham uma
conversa em ingl�s simplificado.
- Eu vou a Vegas pr�xima semana. o senhor vem ir? - dizia o
anestesista, olhando sem ver o outro monitor.
- Qu�, o senhor pensa que jogar, eu?
- o Sr. Cirurgi�o, jogar.
- Vai-te lixar, branco. Pelo menos n�o sou viajante de voos
nocturnos.
- Ah! Sem g�s, n�o h� trabalho para ti, kanaka.
Eu estava do lado direito do paciente, entre o cirurgi�o e o
anestesista, de modo que aquele encanto sem pre�o e aquela
lingu�stica ex�tica tinham de passar por mim. o residente
permanecia do outro lado, inescrut�vel.
Quando tudo estava j� pronto, o cirurgi�o pegou no bisturi e fez
uma incis�o na pele, abaixo da �ltima costela direita. A cerca de
metade da incis�o, demo-nos todos conta de que o paciente n�o
estava suficientemente anestesiado. Estava, de facto, a mover-se e
torcer-se como se tivesse uma terr�vel comich�o generalizada.
Ouviram-se pequenas gargalhadas nervosas, dadas pelo cirurgi�o e
75
pelo anestesista, as do primeiro um pouco c�nicas, porque queria na
realidade demonstrar ao anestesista que n�o sabia que raio estava
a fazer. N�o sei qual a raz�o do riso do anestesista, a n�o ser que
fosse para abrir uma brecha no record de sarcasmo do cirurgi�o. Os
cirurgi�es n�o s�o famosos pelo seu tacto nem pelo seu amor aos
anestesistas.
- Ei, mano, que � que se passa contigo? Est�s a guardar a
anestesia para outro doente? D�-lha, homem, d�-lha.
o anestesista n�o respondeu, e o cirurgi�o prosseguiu.
- Parece que vamos ter que tratar deste caso sem a ajuda da
anestesia.
Eu era um �rbitro inevit�vel neste pugilismo verbal, literalmente
esmagado contra o monitor da anestesia pelo cirurgi�o. S� quando
abriram finalmente a barriga � que me entregaram a pega
demasiado conhecida do retractor, a alegria e raison d'�tre de um
interno. H� milhares de tipos de retractores diferentes, mas fazem
todos a mesma coisa: conter as paredes da ferida e os outros
�rg�os de modo que o cirurgi�o possa trabalhar.
o cirurgi�o posicionou um dos retractores � sua maneira, deumo,
e disse-me para levant�-lo mais do que pux�-lo. Bem, mant�-loia
assim durante dois ou tr�s minutos e depois baixaria. E onde me
encontrava, a minha ac��o sobre a pega do retractor era negativa. o
meu limite era de dois ou tr�s minutos.
- Levante isso, raios. Espere, eu mostro-lhe. o cirurgi�o retirou o
retractor das minhas m�os. - Assim. - Entre outros coment�rios sobre
a minha in�pcia, levantou o retractor durante dois segundos antes
de mo entregar, e eu levantei-o durante dois ou tr�s minutos e
depois recuei. Era inevit�vel. Se houver algu�m que consiga levantar
o retractor durante uma colecistectomia de cinco horas, sem baixar o
bra�o, deve ser com certeza uma pessoa extraordin�ria.
Colecistectomia � o nome m�dico dado � extrac��o simples da
ves�cula biliar. Esta encontra-se situada muito acima dentro do
f�gado, e o interno tem como tarefa afastar o f�gado e a parte
superior da carne da incis�o, para que o cirurgi�o, com a ajuda do
76
residente, a possa extrair. A ves�cula � um �rg�o prec�rio, e
portanto a sua remo��o � uma das mais frequentes interven��es
cir�rgicas. De todas as ajudas de mem�ria que aprendera na escola
m�dica, a que melhor me lembrava era o tipo de paciente sujeito a
esta interven��o: as quatro indica��es - gorda, mulher, 40 anos e
presun�osa.
Durante a opera��o, tinha os meus bra�os mais ou menos por
baixo do bra�o esquerdo do cirurgi�o. Havia-se virado de costas
para mim, o que me impedia de ver a incis�o, a n�o ser por cima do
seu ombro. Quando o anestesista ligou o seu r�dio port�til e
come�ou a folhear um jornal, e o cirurgi�o come�ou a cantarolar, fora
de tom, o ambiente tornou-se cada vez menos parecido com o
ambiente tenso da escola m�dica; excepto quanto �s explos�es de
mau humor do cirurgi�o. Eram todos iguais.
- O.K., Peters, d� uma olhada. - Inclinei-me para observar a
incis�o, que era agora uma fenda vermelha e h�mida com adesivos
a segurar os �rg�os abdominais. Ali estava a ves�cula, o canal
c�stico, o anal comum, o...
- O.K., j� chega. N�o queremos mim�-lo. - o cirurgi�o afastou-se,
empurrando-me, enquanto cacarejava com o anestesista. A sala de
opera��es era um mundo feudal, com uma hierarquia absoluta e um
sistema de valores, no qual o cirurgi�o � um rei todo poderoso e
divino, o anestesista o pr�ncipe parasita e o interno o servo, tendo
que ser supostamente agradecido por alguma pequena forma de
reconhecimento; uma olhadela no final, ou talvez a oportunidade de
dar um n� ou dois. Aquela espreitadela na incis�o havia sido a
minha recompensa por ter estado ali a segurar os retractores e a ver
as costas do cirurgi�o ou os ponteiros do rel�gio a andarem
vagarosamente.
A atmosfera estava suficientemente agrad�vel, at� o cirurgi�o
ter pedido a colangiografia operat�ria, um estudo de raios-X, para
se certificar de que o canal comum estava completamente limpo de
pedras. Isto podia ser verificado injectando uma tinta opaca nos
canais e fazendo depois uma radiografia. As pedras que ainda l�
estivessem iriam sobressair.
77
Mas quando nenhum t�cnico radiologista apareceu magicamente
com o estalar dos seus dedos - estavam todos ocupados com outros
casos - praguejou e agitou o bisturi, amea�ando repres�lias. As
enfermeiras estavam imunes a estas demonstra��es, assim como o
anestesista, cujo r�dio continuava a emitir m�sica e not�cias. Esta
cena familiar acontecia sempre que era necess�ria uma radiografia.
o t�cnico veio finalmente e tirou a radiografia, voltando minutos
depois com uma mancha indistinta, que o cirurgi�o considerou como
o maior atestado de incapacidade desde Roentgen. Queria que
tirasse outra? N�o! Havia com certeza muito para aprender sobre o
cirurgi�o. Reflectindo, tinha a certeza de que queria a radiografia
porque havia lido alguma coisa sobre isso nalgum peri�dico, e
achava que ficava bem no relat�rio da opera��o. o resultado pr�tico
da radiografia era neutro, pelo menos da forma como era utilizado.
No dia seguinte, o radiologista ver-se-ia aflito com ela,
tentando perceber qual a parte de cima e porque raz�o o hemostato
aparecia no meio do sistema de canais. o seu relat�rio iria ser feito
apenas com palpites. o final infeliz desta hist�ria viria mais tarde,
quando o cirurgi�o dissesse algo sarc�stico ao radiologista, que
sorriria cinicamente e responderia que se os cirurgi�es se
organizassem melhor, o servi�o de radiologia poderia ser mais
eficaz. Na realidade, os cirurgi�es est�o sempre em p� de guerra
com toda a gente, com a radiologia, patologia, anestesia, o hor�rio
de opera��es, os residentes, as enfermeiras, os internos, sentindose
completamente rodeados de pessoal ingrato e incapaz. Numa s�
palavra, muitos deles eram bastante paran�icos.
Depois das desculpas apresentadas, arranjei um pretexto para
sair, dando uma explica��o breve sobre Mrs. Takura, e fui
dispensado do resto da colecistectomia. Quando me afastei em
direc��o ao corredor, ainda o cirurgi�o se estava a queixar da
radiografia e o anestesista a ler o seu jornal.
A interven��o de Mrs. Takura havia j� come�ado quando iniciei a
minha segunda lavagem. Podia ver dali o cirurgi�o residente chefe e
o residente do primeiro ano, Carno, ocupados a introduzir ganchos
78
subcut�neos. Carno havia vindo para o Havai na mesma altura em
que eu viera, e pela mesma raz�o; para se afastar da press�o e
divertir-se um bocado. T�nhamo-nos divertido bastante nos primeiros
dias, e cheg�mos mesmo a pensar em partilhar alojamentos. Mas
agora t�nhamos hor�rios diferentes que tornavam tudo mais dif�cil.
A amizade entre o pessoal m�dico � dif�cil e ilus�ria, muito mais
que na faculdade. H� t�o pouco tempo para isso. As pessoas t�m
tend�ncia para se introverterem cada vez mais, tornando-se quase
autistas, mesmo quando est�o livres. Nos �ltimos anos da escola
m�dica, t�nhamos hor�rios t�o diversificados que nem se podia
esperar que as pessoas aparecessem para jantar, ou para uma
festa. Muitas vezes, nem comigo pr�prio podia contar. Acontecia-me
fazer planos, e depois sentir-me t�o cansado que n�o tinha for�as
para os realizar.
Havia tamb�m uma competi��o inevit�vel. Havia come�ado no
nosso primeiro dia, como as sementes de um fungo, evoluindo a
partir de uma premissa de que a Medicina estava no z�nite no
centro universit�rio orientado para as pesquisas. Era a� que iam
parar todos os "bons". Para se l� chegar, era necess�rio primeiro ter
uma resid�ncia no centro da universidade, e para isso era
formalidade ter-se estado interno numa s�rie de hospitais
principescos. Haviam-nos dito logo de in�cio que os quatro ou cinco
melhores alunos seriam convidados a ficar como internos, e isso era
o bilhete dourado para se avan�ar mais um passo gigantesco. A
press�o! �ramos cerca de cento e trinta e t�nhamos sido todos bons
alunos na faculdade, e and�vamos todos atarefados numa roda-viva,
absorvendo os conhecimentos o mais rapidamente poss�vel, e
aceitando os valores do sistema que nos dizia para nos mantermos
no topo. Como alternativa, e era demasiado terr�vel para pensar
sequer, era a quest�o de sermos EXCLU�DOS e acabarmos como
m�dicos de cl�nica geral numa pequena cidade. Era algo que
realmente soava mal, era como sair de uma suite de executivo para
a sala do correio.
N�o fazia a m�nima diferen�a se nos t�nhamos ou n�o sa�do
79
bem; todos no grupo o podiam fazer. Afinal de contas, �ramos
cavalos treinados para correr, e corr�amos como o raio. A verdadeira
inten��o era a de sermos sempre melhores que o pr�ximo. Isso n�o
dava azo a que houvesse um ambiente prop�cio ao florescimento de
amizades, especialmente quando n�o havia sequer tempo, e o
pouco que t�nhamos Pass�vamo-lo invariavelmente com uma
rapariga.
o sistema conseguiu tamb�m afectar isso, especialmente
durante os �ltimos anos. A princ�pio, o estatuto de estudante de
Medicina dava-nos um certo prest�gio nas festas de sociedade -
toda a gente pensava que ir�amos um dia ganhar bastante dinheiro.
Mas fomos gradualmente sendo pouco considerados como
convidados, uma vez que o nosso esquema de hor�rios era t�o
lixado que nunca se sabia se Poder�amos ou n�o comparecer. Todas
aquelas raparigas de Smith e Wellesley a que est�vamos
habituados se afastaram para terrenos mais f�rteis. Por isso,
volt�mo-nos para as que estavam connosco, que tinham os mesmos
hor�rios malucos que n�s. E elas voltaram-se para n�s. o hospital
estava cheio de raparigas - t�cnicas, instrutoras, enfermeiras,
estudantes de enfermagem - e muitas delas eram simp�ticas, e, na
sua maior parte, convenientemente dispon�veis.
Enquanto o treino nos moldava � forma, retir�vamo-nos para o
nosso interior e para o mundo artificial da escola m�dica e do
hospital, Era uma mudan�a impercept�vel, quase inconsciente, mas
pesada. J� que est�vamos na escada rolante que levava � torre de
marfim, fic�vamos l� intelectualmente. Mesmo tendo vindo para o
Havai, n�o me havia afastado completamente. Nunca o faria. Ainda
tinha uma parte de mim no leste; esperava que sim, pelo menos.
N�o era um rebelde ou revolucion�rio, estava apenas um pouco
preocupado Com a direc��o que estava a tomar.
Dirigia-me neste momento para a S. o. de Mrs. Takura, entrando
com os bra�os levantados, pronto a ser vestido. Estavam nesse
momento a abrir o abd�men e o residente chefe fez-me sinal para ir
para o seu lado esquerdo. Depois de me ter espremido entre ele e o
monitor da anestes�a, entregou-me os lend�rios retractores e
80
come��mos a cirurgia, que durou desta vez oito horas.
Mrs. Takura estava irreconhec�vel, sangrando por todo o lado.
N�o parecia ser a mesma pessoa, sempre agrad�vel e respeit�vel.
Havia feito h� alguns anos uma col�cistectomia, e era dif�cil operar
no tecido fibroso e aderente. Duas horas depois, ainda durante a
opera��o, fizemos uma pausa para fechar uma punctura nos
intestinos e uma hemorragia forte que espirrava para o peito de
Carno. Com a queda de press�o do sangue, substitu�ram-se frascos
vazios por cheios. Era um processo longo e duro, mas o residente
chefe parecia estar a fazer um bom trabalho. A leviandade que
poderia ter existido antes desapareceu ao sermos invadidos pelo
cansa�o.
Embora n�o o pudessem imaginar pela televis�o, o humor � uma
pe�a importante na sala de opera��es. Para ser mais exacto, �
muitas vezes pavoroso, e muitas vezes � custa de um paciente
inofensivo e inocente. A maior parte dos cirurgi�es pode entreter
uma equipa de opera��o com hist�rias e piadas bizarras e coloridas
do seu passado. Embora tivesse uma experi�ncia limitada, e,
portanto, um repert�rio limitado, estava geralmente calado nessas
ocasi�es, mas mesmo na altura em que se ia voltar a Mrs. Takura,
quando todos ainda se sentiam bem, aventurei uma hist�ria que era
uma das minhas favoritas na escola m�dica.
Constava que uma enorme senhora muito obesa aparecera no
hospital na altura em que s� estavam nas S. o. dois internos e um
residente. Queixava-se de uma dor abdominal agonizante. Metidos
at� aos cotovelos nos tecidos adiposos, examinaram-na os tr�s,
conferiram, reexaminaram-na, sem conseguir chegar a um acordo em
rela��o ao diagn�stico. Venceram por fim aqueles que achavam que
era uma apendicite aguda, e l� foi ela para a S. o., onde ocupou
literalmente a mesa. Tendo ouvido falar do assunto, juntaram-selhes
mais uns seis ou sete, na altura em que o residente come�ou a
cortar atrav�s das camadas de gordura at� � cavidade peritoneal.
Depois de ter reposto por v�rias vezes os retractores, � medida que
ele entrava cada vez mais, o residente parou subitamente e ajustou
81
a l�mpada. Pediu em seguida um par de tenases, enquanto todos
observavam na expectativa, e retirou um peda�o de pano branco. Um
sil�ncio at�nito caiu repentinamente, at� compreendermos que o
residente havia cortado de tal modo que cortara tamb�m a mesa
operat�ria. o abd�men da paciente era de tal modo enorme que
ca�ra para o lado esquerdo, e o residente n�o havia conseguido
chegar � cavidade abdominal.
Mas a gra�a dessa hist�ria h� muito que se desvanecera. Agora
trabalh�vamos no interior de Mrs. Takura, e eu tinha os m�sculos dos
bra�os adormecidos por ter estado a manter a tens�o nos
retractores na posi��o desconfort�vel em que me encontrava havia
cerca de uma hora. o meu est�mago rugiu de protesto, quando a
hora do almo�o chegou e desapareceu, como contrapartida �
comich�o que sentia no nariz. Tinha a minha bexiga t�o cheia que
nem me atrevia a encostar-me � mesa de opera��es. o tempo
continuava a rastejar. Raras vezes tinha oportunidade de olhar para
a incis�o, embora soubesse o que estava a acontecer, uma vez que
ouvia os coment�rios do cirurgi�o. Os vasos foram cosidos
fastidiosamente - era uma anastamose lado a lado - e a sutura final
foi colocada e atada com dedos fatigados. Quando finalmente
deixou de ser necess�rio utilizar os retractores, n�o conseguia abrir
o punho; os dedos mantiveram-se fechados at� os ter dobrado um a
um, e passado por �gua morna.
Ainda n�o t�nhamos terminado, apesar de serem quase quatro
horas. T�nhamos ainda que a fechar. Sentia-me cansado, com fome,
e desconfort�vel em todos os sentidos, assim como os outros. Sutura
atr�s de sutura, agulha, seda, agulha, trabalhando lentamente ao
longo da incis�o, come�ando do princ�pio e dando pontos r�pidos,
enquanto a por��o separada se juntava, lenta mas
progressivamente, at� � �ltima sutura facial. J� estava. Agora a
pele. J� passava das cinco quando tir�mos as luvas - come�ava
agora a minha gloriosa noite de folga.
Urinei, apontei todas as ordens p�s-operat�rias, mudei de
roupa, e jantei, por essa ordem. Ao atravessar a sala de jantar,
82
sentia-me como se tivesse sido atropelado por uma manada de
elefantes selvagens com cio. Estava exausto, e, o que era pior,
profundamente frustrado. Tinha estado a ajudar � opera��o durante
nove horas seguidas. Oito dessas horas haviam sido as mais
importantes na vida de Mrs. Takura; e n�o me sentia contudo
realizado. Eu tinha apenas l� estado, e era provavelmente a �nica
pessoa verdadeiramente dispens�vel. Precisavam de algu�m com os
retractores, claro, mas at� um esquizofr�nico catat�nico poderia
segur�-los. Os internos anseiam por trabalhar muito, at� mesmo com
sacrif�cios - poder ser, acima de tudo, �teis, e utilizarem o seu
talento - para aprenderem. N�o sentia qualquer dessas satisfa��es,
apenas uma amargura vazia e exaust�o.
Depois do jantar, tinha ainda o trabalho habitual na enfermaria,
embora n�o estivesse de servi�o. Por isso, dei superficialmente uma
olhada por uma s�rie de ligaduras, drenos e suturas. Reescrevi
novas ordens de IV, observei relat�rios do laborat�rio e fiz uma
ficha cl�nica como prepara��o pr�-operat�ria de um paciente novo,
que tinha uma h�rnia. Os solu�os de Roso recome�aram assim que
despertou da sua hiberna��o de Sparina. Consegui evitar tudo o que
n�o queria, apoiando-me no meu cansa�o, racionalizando. Evitei
mesmo olhar para a porta do quarto de Marsha Potts.
N�o conseguiria dormir, embora tivesse estado a p� durante
vinte e quatro horas. Al�m disso, queria ir para qualquer s�tio longe
do hospital, conversar com algu�m. Sentia-me demasiado revoltado
e confuso para estar sozinho, precisava de algu�m. N�o consegui
encontrar Carno em lado algum; estava provavelmente com a sua
namorada japonesa. Mas Jan estava, gra�as a Deus. Quis ir dar uma
volta, talvez um mergulho. Sentia vontade de fazer tudo o que me
apetecia.
Dirigimo-nos para leste, em direc��o � prata violeta do
entardecer. A estrada levava-nos a Pali, em direc��o � parte ventosa
da ilha, e subia gradualmente, mostrando-nos as cores do sol que
se punha no extenso panorama do oceano. Mantivemo-nos em
sil�ncio, sentindo a poesia do lugar, at� termos atravessado o t�nel
e voltado � sombra novamente, em Kailua. Encontr�mos a� uma
83
praia onde pudemos ficar a s�s. Sentia a mente libertar-se dos
pensamentos hostis, e a pris�o do dia; o rel�gio deprimente e os
seus ponteiros parecia estar long�nquo, enquanto mergulhava na
�gua morna, deixando as ondas cansadas embalarem-me na
ondula��o. Mais tarde, deit�mo-nos nas toalhas e observ�mos as
estrelas.
Como queria ouvir Jan a falar, fiz-lhe perguntas sobre si pr�pria,
sobre a fam�lia, os seus gostos e avers�es, e os seus livros
favoritos. De repente, apetecia-me saber tudo sobre ela, e ouvi-la
contar com a sua voz suave e baixa. Ela cansou-se disso, ao fim de
algum tempo, e perguntou-me que tal havia sido o meu dia.
- Passei-o todo na cirurgia.
- Passaste?
- Nove horas.
- Uau, isso � �ptimo. E que fizeste?
- Nada.
- Nada?
- Bem, praticamente nada. Quero dizer, segurava os retractores,
para impedir a extremidade da incis�o e do f�gado de sa�rem do
lugar, para que os verdadeiros m�dicos pudessem operar.
- Est�s a ser parvo - disse ela. - Isso � importante, e sabes
disso.
- Sim, � importante. o problema � que qualquer pessoa o
poderia ter feito.
- N�o acredito.
- Sim, sei que n�o acreditas. Nem os outros. Ningu�m acha que o
lugar de um interno possa ser preenchido por algu�m a n�o ser ele.
Deixa-me no entanto dizer-te uma coisa; na sala de opera��es,
ningu�m a n�o ser outra enfermeira, poderia ter feito o trabalho
dela, assim como em rela��o ao anestesista e ao cirurgi�o. Mas o
meu? Qualquer pessoa poderia! Um tipo qualquer da rua. Qualquer
pessoa, mesmo.
- Mas tens que aprender.
- A� � que est� o problema. o interno est� ali parado, apenas a
84
segurar os retractores. Chamam-lhe aprendizagem... � essa a
racionaliza��o... mas � um logro. Num s� dia, aprende-se o
suficiente sobre a retrac��o. N�o se precisa de um ano. H� tanto
para aprender, mas a este passo lento? Sentimo-nos t�o explorados!
Deviam contratar pessoal para segurar nos retractores e p�r o
interno a dar os n�s e a observar o trabalho do cirurgi�o.
- J� consegues dar n�s como deve ser? - perguntou. Aquilo fezme
parar. Lembrava-me de lhe ter contado que n�o era muito bom a
dar n�s, mas mesmo assim o coment�rio pareceu-me muito
despropositado. Indicava que n�o estava a conseguir aproximar-me
dela, e que n�o havia mais sentido em tentar. Senti-me melhor,
apesar disso, quase como se os meus pr�prios pensamentos se
tivessem organizado. Disse-lhe que n�o, n�o conseguia ainda dar
n�s como deve ser, mas que aprenderia provavelmente, se me
dessem essa tarefa.
Jan estava mais uma vez a aproximar-se e a excitar-me.
Acab�mos a correr na �gua morna. Estava t�o bela, t�o cheia de
vida, que me apetecia gritar de tanta felicidade. Beij�mo-nos e
abra��mo-nos, enrolados no cobertor. Estava louco por ela, e sabia
que �amos fazer amor, e que ela o queria tanto como eu. Mas sentiuse
na obriga��o de falar mais um pouco primeiro, e falar-me de
assuntos pessoais sobre ela pr�pria. Por exemplo, que havia apenas
feito amor com um rapaz, mas que ele a tinha enganado e que n�o
tinha nunca gostado dela. Continuou durante cerca de cinco minutos,
acalmando-me, e decidi finalmente que fazer amor n�o seria uma
boa ideia, afinal. Ela n�o conseguiu acreditar no que ouvia, e quis
saber porqu�. A verdadeira raz�o era a minha frustra��o interior, e
isso n�o a iria satisfazer. Por isso, disse-lhe que adorava o brilho do
seu cabelo, e a sua maneira de ser, mas n�o sabia ainda se a
amava.
Isso deixou-a t�o satisfeita que quase me fez mudar de ideias
novamente. Ao dirigir-me mais tarde para o hospital, consegui que
ela cantasse Para onde foram todas as flores? v�rias vezes, e sentime
descansado.
85
- Pensas que n�o fizeste nada hoje, mas fizeste - disse Jan
subitamente, voltando-se para mim.
- o qu�? - perguntei.
- Bem, salvaste a vida a Mrs. Takura. Quero dizer, ajudaste,
mesmo que penses que deverias ter feito qualquer outra coisa.
Tive de admitir que tinha raz�o, e que n�o me lembrara disso,
Era capaz de ficar a segurar num retractor durante semanas, se fosse
preciso, por Mrs. Takura.
J� de volta ao hospital, voltei a envergar os trajes brancos, e
apressei-me at� � U. C. I. para ver como ela estava. A cama estava
vazia. Olhei para a enfermeira, intrigado, e afastando a ideia.
- Morreu. Morreu h� cerca de uma hora.
- o qu�? Mrs. Takura?
- Morreu. Morreu h� cerca de uma hora. - Ao voltar para o quarto,
senti-me desfeito, chorei, n�o pensando em outra coisa que n�o
fosse aquele dia horr�vel, que nem mesmo o amor poderia redimir.
Deitei-me e adormeci perturbado.
Cent�simo septog�simo segundo Dia
AS URG�NCIAS
Tinha os ouvidos treinados para aquele toque. Podia ouvir a
qualquer dist�ncia o inconfund�vel som agudo, com as suas
ondula��es a crescerem e a repetirem-se, tornando-se
progressivamente mais altas com a aproxima��o. o rel�gio marcava
9 e 15 da manh�. Encontrava-me sentado por detr�s do contador da
sala de emerg�ncias, � espera.
o som da sirene tornava-se inaud�vel para algumas pessoas,
mais pr�ximas da ambul�ncia, devido aos sons de fundo. Outros,
conscientes da sua sa�de, ou ignorando-a, sentir-se-iam satisfeitos
com o diminuir do som, misturando-se no subconsciente com os sons
dos carros, r�dios e vozes. Era para eles algo distante. Pertencia a
outros.
Para mim, tornava-se cada vez mais agudo, porque era o interno
de assist�ncia �s Urg�ncias, o banco, para aqueles que o conheciam
86
e o adoravam. o meu dever nas Urg�ncias podia ser classificado
como sendo o de hospedeiro oficial do hospital, que d� as boasvindas
a todos os que apareciam. E que realmente apareciam -
novos e velhos, com ins�nias, deprimidos, nervosos, e mesmo
ocasionalmente os feridos e os doentes. Trabalhava a�, muitas
vezes, fervorosamente; comia muitas vezes, e sentava-me
ocasionalmente. Mas quase nunca dormia, � espera de ouvir a
temida ambul�ncia.
A sirene significava problemas, e eu n�o estava preparado para
esses problemas, e creio que nunca virei a estar. Embora tivesse
sido destacado para as Urg�ncias havia mais de um m�s, e j� fosse
interno havia cerca de seis meses, o meu estado emocional normal
era o de medo. Medo que me fosse apresentado um caso que n�o
conseguisse resolver, e piorasse tudo. Tinha sido colocado neste
ambiente, ironicamente, que exigia de mim escolhas m�dicas
radicalmente diferentes, mesmo na altura em que tinha come�ado a
desenvolver um certo grau de confian�a nas enfermarias e na sala
de opera��es. Estava completamente sozinho, sem contar com um
grupo de enfermeiras altamente capacitadas, e era o respons�vel
pelo que acontecia. N�o era mau durante o dia, quando l� se
encontravam outros m�dicos - o pessoal nunca estava longe -, mas �
noite podiam passar cinco ou mesmo dez minutos antes de algu�m
aparecer. As coisas podiam por isso ser cruciais. Por vezes era
obrigado a mostrar o jogo.
At� mesmo o hor�rio no banco era diferente. Estava de servi�o
durante vinte e quatro horas, assim como de folga. N�o parece
muito cansativo, at� se trabalhar assim durante uma semana
consecutiva. Se se entra ao servi�o �s oito horas de domingo, �s
oito da manh� de quarta feira j� se trabalhou durante quarenta e
oito horas seguidas, e faltam mais quarenta e oito. Como resultado,
ao fim de duas semanas, o sistema encontra-se completamente
alterado; temos dores de cabe�a, deixamos cair frascos e surge um
ligeiro tremor. o corpo humano est� preparado para trabalhar
durante um certo limite de tempo, e depois necessita de descanso,
87
n�o para trabalhar durante vinte e quatro horas seguidas. A maior
parte dos �rg�os necessita de descanso, especialmente as
gl�ndulas, porque as suas fun��es s�o alteradas cada vinte e
quatro horas, quer o corpo durma quer n�o. Por isso, ao fim de
dezasseis horas de trabalho, as gl�ndulas adormecem, de certo
modo, mas � ainda necess�rio que as decis�es tenham de ser
tomadas, com as mesmas consequ�ncias. A vida n�o deixa de ser
modorrenta �s quatro da manh�, ou ao meio-dia. De facto, h�
alguns estudos que sugerem que � mais d�bil nessa altura. o
paciente quase n�o existe, tudo se torna dif�cil, o mais pequeno
estorvo pode tornar-se numa grande irrita��o...
A sirene aproximava-se cada vez mais. Escutei esperan�ado no
final do som e no efeito Dopler que se experimentava geralmente
quando a ambul�ncia se afastava para um dos hospitais mais
pequenos que havia perto. Mas desta vez n�o. N�o a podia ver,
mas sabia que havia entrado no hospital. Levei apenas alguns
segundos para me aproximar, e l� estava eu para lhe dar as boasvindas.
Podia ver a equipa atrav�s das pequenas janelas da
ambul�ncia, fazendo um esfor�o de ressuscita��o ca�tica. Um dos
assistentes estava a dar uma massagem card�aca comprimindo o
esterno do paciente; outro tentava em v�o manter-lhe posta a
m�scara de oxig�nio. Assim que a ambul�ncia se aproximou,
aproximei-me e abri a porta. Alguns transeuntes pararam e olharam.
Para eles, era s� aquilo. A ambul�ncia tinha chegado e o m�dico
estava � espera com um conjunto de instrumentos estranhos e
miraculosos, estava tudo resolvido. Mas para mim era apenas o
in�cio. Ainda bem que n�o podiam ler na minha mente, enquanto me
preparava para o que estava para vir.
- Tragam-no para a sala A - gritei para a equipa, assim que
pararam com os esfor�os de ressuscita��o. Ajudei-os a levantar a
maca e lev�mo-la rapidamente pelo pequeno corredor, perguntandolhes
quando havia sido a �ltima vez que tinham verificado
respira��o ou algum sinal de vida.
- N�o tem, e s� o encontr�mos h� cerca de dez minutos.
88
Era um homem de cerca de 50 anos, de barba, e t�o grande que
havia sido necess�rio que todos o levant�ssemos para o colocar na
mesa de observa��es. Chegara o momento de tomar uma decis�o, e
os segundos pareceram-me anos; era o tipo de decis�o que n�o �
muito discutida fora dos hospitais. Devia declarar ser uma paragem
card�aca, ou um simples caso de morto � chegada? Era seguramente
injusto exigir-me uma tal decis�o apenas com base naquilo de que
podia lembrar-me dos livros de estudo! Mas tinha de ser tomada,
fosse como fosse, e depressa.
o que aconteceria se declarasse ser uma paragem card�aca? H�
seis semanas, conseguimos reanimar um homem apenas oito
minutos depois da morte cl�nica. Encontrava-se agora na unidade de
cuidados intensivos, vegetativo, vivo num sentido legal, mas morto
em qualquer dos outros. Ao v�-lo todos os dias, comecei a sentir
que, tendo-lhe dado aquela meia-vida tecnol�gica, o hav�amos de
algum modo privado da sua dignidade. o corpo havia funcionado
durante cerca de seis semanas - o cora��o batia, os pulm�es
respiravam mecanicamente, e tinha os olhos dilatados e vazios; e os
seus parentes haviam chegado ao limite das reservas emocionais e
financeiras. Mas qual era a m�o que se atreveria a desligar a
m�quina que respirava por ele, quem se atreveria a cortar a sua IV,
qual seria a mente que se esqueceria de manter a concentra��o
i�nica certa, necess�ria para que o cora��o batesse para sempre
sem o c�rebro? Ningu�m quer destruir aquele gr�ozinho de
esperan�a que subsiste mesmo na mente mais objectiva.
Mas a� entra o problema da cama. Precisamos dela para outros -
pessoas que est�o talvez mais vivas, mas que podem morrer se
privadas dos recursos dos C. I. Vem tudo dar a uma decis�o baseada
numa grada��o subtil e indefinida da morte contra a vida. N�o �
uma quest�o apreto e branco, mas de tons cinzentos. Que significa
realmente estar vivo? � uma quest�o complexa, cuja resposta a
minha mente entorpecida pela fadiga tentava resolver.
Onde � que o interno exausto pode ir buscar aux�lio num
momento como este? A faculdade, com os seus conceitos est�reis
89
para a verdade, a religi�o, a filosofia, que levavam invariavelmente
a uma aceita��o autom�tica da vida como o oposto da morte? N�o
h� a� ajuda alguma. A escola m�dica? Talvez, mas a torre de marfim
das complexidades da reac��o de Schwartzman e a sequ�ncia dos
ciclos dos amino-�cidos afastaram as quest�es fundamentais. Nem
sequer se pode esperar ajuda de um m�dico assistente. Mant�m-se
sempre silencioso, talvez perplexo, mas endurecido pela repeti��o. E
o amigo ou parente? Que diria ele se soubesse que talvez haja um
ponto interm�dio entre a vida e a morte? Infelizmente, n�o pode ir
mais longe que pensar na pobre alma do que �, ou era, o tio
Charlie. Sem assist�ncia, o interno fecha-se em si mesmo e toma
decis�es arbitr�rias, que s�o influenciadas pelo seu cansa�o, seja
de dia ou de noite, quer esteja apaixonado ou solit�rio. Tenta
ent�o esquecer-se, o que � f�cil, estando cansado; e, uma vez que
est� sempre exausto, esquece-se sempre - mas sabendo que mais
tarde as recorda��es podem vir � superficie do inconsciente,
Inseguro e irritado, foi mais uma vez posto � prova e descobriu que
n�o estava preparado...
Paradoxalmente, encontrava-me sozinho, mesmo com as seis
pessoas que me rodeavam, perto da massa corpulenta do homem
barbudo. As extremidades estavam frias, mas tinha o peito quente;
n�o tinha pulso, n�o respirava, nem tinha as pupilas fixas e
dilatadas. Um dos assistentes da ambul�ncia n�o parava de falar,
dizendo-me o que havia sabido pelo vizinho que tinha vindo com
ele. o homem havia chamado o seu m�dico ap�s um ataque de asma
que havia tido naquela manh�, mas tinha piorado - de tal modo,
que tinha sa�do com o vizinho em direc��o �s urg�ncias. A meio da
viagem, teve um ataque agudo de dispeneia, uma incapacidade de
respirar. Parou o autom�vel, saiu, avan�ou alguns passos e
desfaleceu. o vizinho pedira auxilio e chamaram a ambul�ncia.
- Morto � chegada- disse eu firmemente, tentando n�o aparentar
d�vidas. De facto, a minha mente era um caos de pensamentos
relacionados que percorriam um c�rculo � volta de um exemplo. As
manh�s nas Urg�ncias s�o, estranhamente, a altura mais vulner�vel
90
de um interno. Apesar do descanso aparente da noite anterior, a
sua capacidade de tomar decis�es � cortada pela exaust�o
profunda de um servi�o de vinte e quatro horas. A sua experi�ncia �
insuficiente para que possa tomar decis�es cr�ticas com a certeza
de ter n�o uma ideia racional, mas puro reflexo. Toma-se como certo
o velho aforismo de que a familiaridade necessita de aceita��o
cega. E � mesmo assim. No in�cio de carreira, acontece muitas vezes
o interno ser posto perante uma situa��o em que tem a mente limpa
para pensar, mas n�o consegue, no entanto, encontrar respostas.
Como o esquizofr�nico que n�o consegue aguentar uma demasiada
abertura sensorial, a informa��o permanece d�ssociada na sua
mente. o interno absorve por isso essas experi�ncias que sobre ele
se precipitam; permanecem na sua mente como um aglomerado solto
at� estar suficientemente cansado para releg�-las para o seu
inconsciente, e chega eventualmente a um ponto em que a
experi�ncia lhe tr�s algum conhecimento familiar, e este traz-lhe a
aceita��o sem o pensamento. Mas, nessa altura, uma grande parte
da sua humanidade � desprezada...
Esta actividade mental aconteceu em mil�simos de segundos.
N�o fiquei ali a interrogar-me e na d�vida, com o homem barbudo
ali deitado. Tinham-se passado apenas alguns segundos desde que
havia aberto a porta da ambul�ncia e dissera Morto � Chegada. Mas
parecia ter sido havia muito mais tempo, e isso afectou-me durante
horas. o meu treino havia avan�ado bastante, de modo que n�o
precisava de lhe ver o pulso.
A quest�o central e incisiva mantinha-se: por que raz�o tinha
sido permitido que eu tomasse tal decis�o? Senti-me, de algum
modo, um c�mplice do dem�nio, um agente na morte do homem. Era
verdade que se eu n�o o fizesse, outra pessoa o teria declarado
morto; eu n�o era imprescind�vel ao drama. Isso � f�cil de dizer, se
se n�o estiver envolvido, mas n�o podia resolver o assunto assim
t�o depressa. Tomara uma decis�o sem a qual o homem de barba
n�o estaria morto neste momento. T�-lo-�amos e ter�amos estado a
estimular-lhe o cora��o, respirando por ele, mantendo-o legalmente
vivo. Senti, por isso, porque havia cortado essa possibilidade, que
91
era o �nico respons�vel pela sua morte.
Teria sido demasiado apressado em declar�-lo Morto �
Chegada, seguindo o caminho mais f�cil? Assim que o pronunciei,
todos os recursos m�dicos se esgotaram. Se tivesse tido outra
decis�o, a favor de uma tentativa de ressuscita��o, o meu primeiro
passo teria sido o de inserir um tubo endotraqueal que respirasse
por ele. Sempre achei isso uma tarefa muito dif�cil. Talvez eu o
tivesse pronunciado Morto, em parte para me livrar da tarefa. Ou
talvez fosse porque sabia que as camas nas U.C.I. estavam
ocupadas e tivesse chegado � conclus�o de que, mesmo que o
tiv�ssemos conseguido reanimar, se tornaria em mais um ser
vegetativo, de qualquer modo. Penso agora que estas s�o
quest�es sem resposta, mas naquela altura deixaram-me louco.
Naquele estado, dirigi-me para o corredor para enfrentar a mulher e
a filha. Era uma mulher alta e magra, quase macilenta, que tinha uns
olhos negros e penetrantes. Usava um vestido longo e antiquado e
sand�lias. Enrolada na ampla saia, estava uma rapariguinha de
cerca de 7 anos.
A situa��o parecia-se realmente com os principais programas de
televis�o: o Interno ou Os Jovens M�dicos - ingredientes para uma
confronta��o dram�tica ou terrivelmente sentimental. A realidade
n�o era nada do que Ben Casey teria encontrado. Enfrentar a mulher
e a crian�a, preocupadas e assustadas, n�o era dram�tico ou
sentimental, era apenas mais um obst�culo a saltar. Talvez uma
terceira pessoa omnisciente pudesse ver o assunto de outro modo.
N�o era o meu caso. Sabia o que havia acontecido na sala atr�s das
cortinas, mas n�o fazia a m�nima ideia do que elas pensavam, e do
que necessitavam ouvir. o pior de tudo era que estava afundado
sem esperan�a nos meus pr�prios pensamentos sobre a morte e
responsabilidade, no que poderia ter sido. Queria implorar-lhes que
ouvissem as minhas prelec��es sobre o ciclo de Krebs ou qualquer
outra eleg�ncia m�dica. A escola m�dica preparou-me realmente mal
para isto. "Fixe apenas os conceitos, Peters. o resto logo vem." o
resto - a morte - aprende-se com julgamentos e erros, e acabamos
92
por cair nas frases da televis�o.
- Lamento muito. Fizemos tudo o que nos foi poss�vel, mas o seu
marido faleceu - disse, suavemente. As palavras banais sa�ram-me, e
pareceram-me adequadas, de facto bastante satisfat�rias, nas
circunst�ncias. Talvez tivesse futuro na televis�o. A �nica coisa que
me incomodava era aquela parte do "fizemos tudo o que nos foi
poss�vel"; n�o t�nhamos feito nada. Contudo, o que havia dito era
apenas uma hipocrisia est�pida e conveniente para mim. Passava. A
mulher e a crian�a ficaram simplesmente ali, paralisadas, quando
voltei as costas e me afastei.
Gra�as a Deus, n�o havia mais pacientes para observar. Assinei
a folha de papel para tornar oficial a minha culpa na morte do
homem e dirigi-me rapidamente para a sala dos m�dicos, atirando
com a porta. Fiz cair da parede um pequeno quadro que uma firma
de medicamentos nos havia dado, que representava um grupo de
incas a abrir o cr�nio de um pobre coitado; mas o calend�rio da
Playboy que se encontrava do outro lado s� estremeceu um pouco
em sinal de protesto, e Miss Dezembro n�o se modificou. Afundeime
num enorme cadeir�o de cabedal. Era uma sala grande, que
tinha as paredes vazias, com excep��o do quadro inca e de Miss
Dezembro. Num dos cantos, havia uma estante baixa repleta de
livros, e no outro uma cama pequena o um candeeiro. o cadeir�o
onde me sentei estava mesmo em frente � parede verde-p�lida
onde se encontrava Miss Dezembro. Desejei que a minha mente se
tornasse t�o vazia e pl�cida como a sala.
Miss Dezembro ajudou-me; de facto, havia-me hipnotizado. Que
� que a Playboy tem contra os p�los? A n�o ser pela abund�ncia de
cabelos na cabe�a, Miss Dezembro era t�o lisa como uma pe�a de
m�rmore - n�o tinha p�los no peito, debaixo dos bra�os, nem nas
pernas, e n�o tinha nenhum entre as pernas, aparentemente,
embora fosse dif�cil de ver por causa da meia enorme de Natal.
Talvez a Playboy estivesse a substimar grande parte do seu
mercado. N�o achava os p�los p�bicos assim t�o horr�veis. Na
realidade, ao lembrar-me da noite anterior, descobri que os p�los
p�bicos de Joyce Kanishiro eram uma das suas mais atraentes
93
caracter�sticas. Sem ofensa - � que ela tem realmente uns p�los
p�bicos bonitos e fartos. Quando estava nua viam-se, fosse qual
fosse a posi��o em que se encontrava. Pensei que seria dif�cil p�r
Joyce num calend�rio da Playboy.
Nem Miss Dezembro, nem Joyce, e nem as est�ticas dos p�los
do corpo conseguiram tirar o homem barbudo completamente da
minha mente. N�o era certamente a primeira vez que a morte me
havia confrontado nas Urg�ncias. De facto, no meu primeiro dia ali,
quando tremia s� de ver um doente com um ligeiro ataque de asma,
havia aparecido uma ambul�ncia com a sirene ligada, e dela
retiraram um rapaz de cerca de 20 anos a quem os assistentes
haviam estado a fazer respira��o artificial e compress�o card�aca.
Tinha ficado na entrada, apertando literalmente as m�os e na
esperan�a de que algu�m chamasse um m�dico. Era rid�culo. Era eu
a pessoa que esperavam encontrar quando avan�avam com as luzes
vermelhas acesas, arriscando a vida e os membros.
Olhei para o corpo e verifiquei que tinha o olho esquerdo
arrancado. A sua pupila distorcida olhava para um lado incerto. Que
podia eu fazer �quele olho? N�o tive, na realidade, muito mais
tempo para pensar nisso. o rapaz j� n�o respirava e o cora��o havia
parado. A equipa informou-me rapidamente de que o paciente n�o
se havia movido mais desde que o tinham ido buscar, quando um
vizinho os chamara. Ao colocarem-no na mesa de observa��es,
vislumbrei uma ferida na parte de tr�s da cabe�a. Tentei observ�-la
melhor, mas fiquei bloqueado ao ver pequenos peda�os de c�rebro
que escorriam de um pequeno orificio de cerca de dois cent�metros e
meio de di�metro, e compreendi ent�o que havia levado um tiro e
que a bala havia atravessado o olho esquerdo e sa�do pela parte
de tr�s do cr�nio. A equipa e as enfermeiras ficaram l�, ofegantes
depois dos esfor�os, enquanto eu prosseguia com a minha rotina.
Seria um disparate puro tentar verificar com o estetosc�pio - j� nada
poderia ser feito - mas, � falta de outra estrat�gia, escutei o seu
peito. Apenas ouvi os meus pensamentos, interrogando-me sobre o
que deveria fazer a seguir. Espera-se sempre que o interno fa�a
94
v�rias coisas, contudo o corpo estava de tal modo morto que se
encontrava praticamente frio.
- Est� morto - disse finalmente, depois de ter verificado o pulso.
- Quer dizer, Morto � Chegada, Doutor? Sem paragem card�aca, �
assim?
Era isso mesmo, morto � chegada. o rapaz com o orif�cio na
cabe�a era muito diferente do homem de barba. Claro que o orif�cio
me havia assustado, e sentira-me aliviado por me ver livre da
responsabilidade de descobrir o que fazer com o olho. Mas o ponto
principal era, contudo, que ele trouxera um orif�cio na cabe�a que
tivera a sua ac��o antes de mim; sentia por isso menos
responsabilidade. Por outro lado, agora sem o len�ol que o cobria, o
homem de barba parecia normal, como se estivesse a dormir. � o
problema da morte causada pela asma. N�o se encontram muitos
sinais, mesmo depois de uma aut�psia, a n�o ser que a v�tima
tenha tido um ataque card�aco muito grave.
Enquanto me encontrava sentado no quarto, tentei imaginar
Joyce Kanishiro nas p�ginas centrais da Playboy. Isso � que era
alguma coisa. Ela tinha mesmo alguns p�los negros � volta dos
mamilos. Teriam de retocar um pouco a foto.
Joyce era uma t�cnica de laborat�rio com um hor�rio t�o
estranho como o meu. Isso n�o era problema, mas tinha no entanto
um grande inconveniente: a sua colega de quarto estava sempre l�.
Sempre que levava Joyce ao apartamento, das primeiras vezes que
sa�mos, l� estava ela a ver televis�o e a comer ma��s. Havia o
quarto, mas nunca parecia haver oportunidade de irmos para l�. De
qualquer modo, a colega, uma pessoa noct�vaga, haveria ainda de
estar na sala olhando para o prot�tipo do teste quando n�s
sa�ssemos, �s cinco da manh�. Depois de umas noites passadas a
ver com�dias seguidas das not�cias e o filme da �ltima sess�o,
compreendi que t�nhamos que mudar de local.
o meu devaneio com Joyce foi interrompido por outra
recorda��o, um epis�dio que acontecera cerca de duas semanas
antes, numa das noites em que havia come�ado com o turno das
95
Urg�ncias. A mesma rotina de sempre: a sirene, luzes vermelhas a
piscarem e um tipo que parecia estar normal, tamb�m. Assim que os
assistentes o tiraram da ambul�ncia e o levaram para dentro,
disseram-me que havia ca�do de um d�cimo quinto andar, em cima
de um carro estacionado. Havia-se movido? N�o. Respirava? N�o.
Parecia no entanto estar normal, bastante descontra�do, um pouco
como o homem de barba, mas mais jovem. H� quanto tempo o
encontraram? H� cerca de quinze minutos., Exageravam sempre para
menos, para evitar cr�ticas. Observei os olhos dele, com um
oftalmosc�pio, focando at� ver os vasos sangu�neos. Ao concentrarme
melhor nas veias, pude verificar que havia uma esp�cie de
torr�es que s� podiam ser co�gulos de sangue.
Morto � Chegada - disse. - N�o houve paragem card�aca. Tinha
ficado bastante aborrecido tamb�m com este caso, embora uma
queda de quinze andares seja geralmente conclusiva.
Come�aram a aparecer elementos da fam�lia, repentinamente.
primeiro chegaram os primos e os tios, e alguns vizinhos. Depois �
que apareceram os parentes mais chegados. Parece que o homem -
chamava-se Romero - se havia desequilibrado enquanto pintava o
exterior de um edificio. Depois, as enfermeiras telefonaram para a
mulher a dizer que o marido se encontrava em estado grave e o
boato do acidente espalhou-se rapidamente. Na altura em que Mrs.
Romero chegou haviaj� imensa gente a querer saber como ele
estava e � espera para o poder ver. Quando a informei da morte do
marido, usando o meu melhor tom calmo e confidencial, Mrs. Romero
ergueu os bra�os para o c�u e come�ou a lamentar-se. Ouvindo-a, o
resto do grupo come�ou tamb�m a chorar. Fui testemunha durante
cerca de uma hora da incr�vel e assustadora representa��o dos
Romero e dos amigos, que continuavam a aparecere a encher as
Urg�ncias. Batiam nas paredes, arrancavam os cabelos, gritavam,
lutavam uns com os outros, e come�aram por fim a partir a mob�lia
da sala de espera. N�o tinha tempo para tecer considera��es
acerca das implica��es metafisicas deste caso, estava demasiado
ocupado a proteger-me e ao resto do pessoal m�dico. J� mataram
alguns internos nas Urg�ncias. Isto � verdade.
96
Vi mais tarde, no relat�rio da aut�psia do patologista, que a
aorta de Romero se havia rompido. Isso fez-me sentir um pouco
melhor. Mas sabia que o patologista nada iria encontrar na
aut�psia do homem de barba.
Estava meio adormecido no velho cadeir�o de cabedal, e
brincava com esses pensamentos e recorda��es, enquanto os seios
gigantescos e quase rid�culos de Miss Dezembro pareciam tornar-se
cada vez maiores. Os seios de Joyce n�o eram assim. Mud�mo-nos
para o meu quarto para fugirmos � viciada em TV, e lembrava-me
vagamente de ter acordado �s quatro e meia quando ela sa�a pela
porta de tr�s, quando ainda n�o havia gente a p� naquela ala. A
ideiahavia sido dela; a mim tanto se me dava. E foi assim que nos
vimos livres da Miss Ma��s e da TV. Era realmente um hor�rio
�ptimo. Nas minhas vinte e quatro horas de folga, fazia surf � tarde,
lia � noite, e cerca das onze horas, depois do seu turno, Joyce
chegava e �amos para a cama. Era uma rapariga atl�tica, musculada.
Era muito resistente, realmente insaci�vel. Quando estava com ela,
n�o pensava em outra coisa.
Mas a cama de hospital do meu quarto fazia imenso barulho e
era muito pequena. Quando Joyce se levantava �s quatro e meia,
era �ptimo poder expandir-me nela, gozando o seu espa�o.
Durantealgum tempo, levantava-me com ela e despedia-me
acenando - parec�a-me ser isso que deveria fazer - mas agora
acenava-lhe s� da cama, enquanto a observava a vestir-se. Joyce
parecia n�o se importar. Nessa manh� voltara, toda vestida de
branco resplandecente, e beijara-me suavemente. Disse-lhe que nos
ver�amos mais tarde. Era uma colega fixe.
Tr�s horas mais tarde, fui acordado pelo telefone. Havia-se
passado t�o pouco tempo que fiquei quase � espera de que
estivesse ainda ali. Devo ter adormecido antes de ela ter sa�do.
7 e 30 da manh� de s�bado, o dia mais movimentado nas
urg�ncias. Apesar de ter dormido oito horas, sentia-me fisicamente
cansado e desfasado. Era a treta das quarenta e oito horas de
trabalho. Segui a minha rotina normal, que come�ou na altura em
97
que me inclinei sobre o lavat�rio e observei os meus olhos
vermelhos e acabou com a minha chegada �s urg�ncias um minuto
depois das oito, como sempre. Era estranho, apesar da minha
tend�ncia geral de chegar um pouco tarde, conseguia sempre chegar
a horas �s urg�ncias para substituir o meu colega, que quase se
atirava aos meus p�s, cheio de gratid�o, com a roupa manchada de
sangue e olhos cansados.
Havia sido uma manh� de s�bado relativamente calma, sem
grandes problemas, apenas a prociss�o habitual de pessoas que
deixaram cair o ferro de passar sobre os p�s ou que ca�ram em cima
de um vidro, e tudo se havia resolvido rapidamente, at� � chegada
do homem de barba.
J� se havia passado meia hora desde o caso do homem de
barba e nada mais havia acontecido fora da sala dos m�dicos, se
n�o ter-me-iam chamado. o meu rel�gio indicava que eram dez da
manh�. Sabia que era apenas uma quest�o de tempo.
Uma enfermeira bateu negligentemente � porta e entrou para
me avisar que tinha pacientes � espera. Sentindo-me quase aliviado
por ser arrancado do meu devaneio, mergulhei de novo na luz do dia
e peguei nos "esquemas" que a enfermeira havia preparado. Tenho
de tirar o chap�u �quelas enfermeiras. Acompanhavam cada
paciente mecanicamente para a sala de exames, tratavam de todos
os pormenores administrativos, a tens�o, e mesmo a temperatura,
quando achavam necess�rio. Por outras palavras, tratavam bem dos
pacientes. Faziam uma triagem de alguns pacientes, mas n�o eram
elas que decidiam, porque tinha de os ver a todos, mas tentavam
estabelecer prioridades, se estivesse muita gente, ou para me
darem um pouco de paz, se n�o estivesse. Penso que sempre que
chegava um interno novo, elas sentiam-se tentadas a dirigir tudo
sozinhas, porque a maior parte dos casos que apareciam n�o eram
considerados emerg�ncias.
Mas era eu o interno respons�vel, e ali estava, com a bata e as
cal�as, e os sapatos brancos, estetosc�pio ao pesco�o e enfiado no
bolso direito de uma forma particular, equipado com canetas de
v�rias cores, uma lanterna, um martelo de reflexos, um oftalmo-
98
otosc�pio e quatro anos da escola m�dica. Aparentemente
preparado em v�o. Na realidade, s� havia lidado e s� tratara com
doen�as. Tendo em considera��o que a variedade de doen�as �
quase infinita, n�o se podia dizer que estivesse bem preparado. A
minha incompet�ncia era como uma sombra que desaparecia apenas
quando havia muitos beb�s a chorar e suturas a fazer.
Cerca de dez horas depois, sentia-me geralmente t�o cansado
que n�o conseguia pensar mesmo que n�o houvesse pacientes. As
manh�s eram a parte mais dura, at� � chegada da tarde; o resto
parecia correr por si.
o primeiro dos dois pacientes novos era um surfista que tinha
levado uma pancada com a prancha, originando um corte de cerca
de cinco cent�metros acima do olho esquerdo. Estava consciente e
desperto, e tinha uma vis�o normal. Estava �ptimo, de facto, com
excep��o do corte. Liguei para o m�dico particular, que, como
esperava, concordou que o cosesse. Era assim que as coisas
funcionavam. Os pacientes vinham, observava-os e depois
contactava o m�dico particular. Se n�o tivessem um,
seleccion�vamos um, se tivessem meios de lhe pagar,
evidentemente. De outra forma, ficavam considerados pacientes do
pessoal m�dico do hospital, e eu ou um dos residentes ficar�amos
respons�veis por eles. A resposta que ouvia invariavelmente dos
m�dicos particulares nestes casos era para os coser. Ainda fiquei a
pensar, nos primeiros dias, se os m�dicos particulares cobravam a
sutura aos pacientes, embora n�o f�ssemos incentivados a
investigar o caso.
Na realidade, agora j� era bastante bom a dar os n�s e a coser,
tepois de ter tido que participar em v�rias opera��es, incluindo tr�s
h�rnias, algumas hemorr�idas, uma apendicectomia e uma excis�o
ubcut�nea de uma veia. Na maior parte delas, havia segurado
apenas os malditos retractores e cortado ocasionalmente algumas
verrugas.
Cortar verrugas � a recompensa do interno por se portar bem: �
mais ou menos como a remo��o das hemorr�idas, embora estas
99
sejam mais importantes. Extra�mos dezenas delas na escola m�dica,
na parte de dermatologia, uma vez que era um procedimento
essencialmente sem riscos e que estava muito abaixo da dignidade
de um cirurgi�o. A minha primeira verruga havaiana havia sido
tirada com o Supercaro, a alcunha de um cirurgi�o assim chamado
pela sua incompet�ncia sem igual. Fizemos a esteriliza��o juntos
num caso de uma bi�psia da mama, que � geralmente um trabalho
que leva cerca de trinta minutos, a n�o ser que se encontre uma
malignidade. Mas n�o com o Supercaro. Manteve-se � volta do
trabalho cerca de uma hora, antes de enviar o peda�o do tecido
para a patologia. A minha esperan�a era que o tecido fosse benigno
- e era, felizmente - e o Supercaro fechou ent�o a incis�o. Ser um
assistente numa bi�psia da mama n�o � um processo assustador,
sejam quais forem as circunst�ncias; este caso tornara-se frustrante
porque n�o havia feito coisa alguma, nem sequer segurar nos
retractores. Assim que o Supercaro acabou de atar o �ltimo n�,
afastou-se, tirou as luvas e declarou magnanimemente que eu
poderia agora retirar a verruga do pulso, o que fiz diligentemente,
acompanhado por uma s�rie de maus conselhos do Supercaro, que
n�o compreendia porque n�o me mostrava eu mais agradecido.
Tinha no entanto estado mais envolvido na opera��o seguinte;
de facto, de tal modo que quase estraguei tudo. Tratava-se da
excis�o subcut�nea de uma veia, e o cirurgi�o era um m�dico
particular com quem nunca antes me havia esterilizado. Disse-me,
enquanto lav�vamos as m�os, que esperava que eu fizesse um
trabalho meticuloso. Pestanejei um pouco, ao perceber que me
estava a confundir com um dos residentes, mas deixei-o pensar
assim. Quando lhe respondi que tentaria fazer um bom trabalho,
disse-me que tentar n�o era o suficiente, e ou o fazia como deve
ser, ou n�o valia a pena faz�-lo. N�o tive coragem de lhe dizer que
nunca tinha feito uma excis�o subcut�nea. J� tinha v�sto algumas
antes, mas s� do ponto de vista dos retractores; al�m disso, queria
experimentar.
Esperei que ele sa�sse, e s� depois me apressei, porque
100
precisava que ele come�asse. A paciente era uma mulher de cerca
de 45 anos, que sofria de veias varicosas. Tendo sido destacado
para o caso h� alguns minutos, n�o a havia visto antes, e s� podia
por isso tentar imaginar como seriam as veias quando estava de p�.
Embora soubesse a teoria, n�o estava muito a par da pr�tica. Era
como ler tudo sobre nata��o, saber os nomes das posi��es e dos
movimentos, ter observado pessoas a nadar, e ser depois atirado
em �guas profundas. Tinha como fun��o fazer uma incis�o nas
virilhas, encontrara a veia superficial denominada veia safena e
cortar todos os pequenos vasos tribut�rios. Depois, dirigir-me aos
tornozelos e fazer outra incis�o, isolar a mesma veia safena nesse
local e prepar�-la para a excis�o. o instrumento usado era um
simples peda�o de arame, que eu iria enfiar na veia at� � virilha;
assim que atasse o final do instrumento � veia, puxava ambos
atrav�s da incis�o da virilha. Era o que deveria fazer, e sabia-o de
cor; tinha estudado, tinha observado e tinha pensado nisso.
Quase sem press�o, o bisturi bem afiado ia cortando
suavemente atrav�s da pele na virilha. Iniciei a disseca��o com as
tesouras, mas n�o as conseguia controlar muito bem. Resolvi mudar
de instrumento, e utilizei uma pin�a hemost�t�ca, n�o para unir um
vaso, mas para separar abruptamente os tecidos, abrindo a pin�a
antes de puxar a gordura. Era um m�todo que causava menos
hemorragias, e come�ou a avan�ar, entrando profundamente nas
camadas espessas de gordura. Nada vi que conseguisse reconhecer
l� dentro, na virilha; era como estar �s escuras - at� que encontrei
casualmente uma veia, N�o fazia a m�nima ideia de que veia se
tratava, mas, ao limp�-la cuidadosamente, pude segui-la em
direc��o a uma maior, que esperava que fosse a veia femural. Se
assim fosse, ent�o a primeira veia seria a veia safena L�o ansiada,
mas n�o tinha a certeza. N�o conseguia controlar os dedos e deixei
cair os instrumentos uma ou duas vezes, de t�o nervoso que estava
com a minha participa��o. Afinal, que diria o cirurgi�o se eu lhe
dissesse que nunca havia operado antes, a n�o ser as incis�es para
a IV e para retirar verrugas?
Ainda pensei em perguntar-lhe se era aquela a veia certa, mas
101
uma confiss�o de uma ignor�ncia dessas s� iria fazer que me
afastassem de qualquer outra futura participa��o.
Decidi-me, arriscando tudo, e esperando encontrar a veia safena
e n�o um nervo. A tarefa tornava-se progressivamente mais dif�cil.
Estava uma confus�o, para dizer a verdade. Empurrei e puxei a veia,
tentando extra�-la, abrindo bruscamente o hemostato, ensopando o
sangue com uma esponja de gaze para manter a zona limpa. A veia
partiu-se por v�rias vezes e o sangue escorreu, mas consegui
estanc�-la de algum modo com o hemostato ao fim de alguns cortes
no escuro. Havia no entanto alguma consola��o na hemorragia,
porque provava que a estrutura que havia isolado era de facto um
vaso sangu�neo.
A parte mais dif�cil era talvez tentar at�-la � volta do hemostato
que havia colocado dentro da incis�o para estancar a hemorragia.
P�r o fio de seda em volta da ponta do emostato era uma tarefa
f�cil, mas tentar manter a tens�o na primeira la�ada parecia-me
imposs�vel.
Quando retirei o hemostato, o la�o que havia feito
simplesmente sa�a e a hemorragia recome�ava novamente. Em
conclus�o, do ponto de vista t�cnico, poderia muito bem estar a
retalhar um porco. Olhava conscienciosamente para o cirurgi�o de
vez em quando, mas este parecia alheio aos meus problemas e
absorto no seu trabalho, onde tudo estava sob controlo.
Mas que forma de aprender, pensei para mim mesmo. Mas era a
�nica maneira. Se ele imaginasse que eu era completamente
inexperiente em excis�es de veias, n�o me teria deixado faz�-lo.
Era t�o simples como isso. Por isso, puxei, libertando finalmente
todos os vasos tribut�rios da veia safena. Mesmo com os tribut�rios
isolados, sentia-me um pouco tenso ao cortar a veia em duas,
porque era um acto irrevog�vel. Fiz ent�o uma incis�o no tornozelo,
localizando facilmente a veia safena apenas porque era a mesma
que costumava cortar para as IV. Introduzi o instrumento de excis�o
por dentro da veia e puxei-a para fora atrav�s da incis�o inguinal.
Ap�s ter atado a veia ao instrumento no tornozelo, e com alguma
102
for�a, puxei-o atrav�s da perna, rasgando aveia. Houve um esguicho
de sangue, um ru�do agudo de rasgo, e a veia saiu completamente
encarquilhada no fim do instrumento. o cirurgi�o havia muito que
tinha terminado a sua parte e fora tomar um caf�, deixando o
trabalho das suturas para mim. Nunca tive m�s not�cias acerca dos
operados do dia, por isso pensei que a senhora n�o devia ter
ficado mal, depois da minha inicia��o.
Apesar de ter feito centenas de suturas nas emerg�ncias, as
primeiras lacera��es tinham-me dado bastante trabalho. Por uma
simples raz�o: nas emerg�ncias, quase todos os pacientes est�o
conscientes e s�o observadores atentos. No meu primeiro dia nas
emerg�ncias, quando a enfermeira me perguntou que tipo de sutura
queria, bem me podia ter perguntado, com o mesmo resultado, qual
era a popula��o de Madag�scar. Nas emerg�ncias, o cirurgi�o
estipula o tipo de material que quer para a pele antes da sutura;
normalmente aceitamos o que a enfermeira nos d�, mesmo que o
cirurgi�o j� tenha sa�do. Mas havia nas emerg�ncias uma grande
variedade de escolha - nylon, seda, Mersilene, tripas - e tudo com
espessuras diferentes. A enfermeira n�o estava a tentar deixar-me
ficar mal; s� queria que lhe dissessem quais.
- Quais s�o as suturas que vai utilizar, Doutor?
N�o fazia a m�nima ideia.
- As normais.
- As normais, Doutor? - N�o havia normais, pelos vistos.
- Hum... nylon - disse eu.
- Qual o tamanho?
- Quatro - respondi, sem ter a certeza exactamente do que
estava a pedir.
N�o ser� preciso dizer que rapidamente aprendi tudo sobre
suturas, e como as fazer, mas sempre por tentativas e erros. No
primeiro caso, dei pontos a mais, e no segundo cheguei ao fim com
pele de mais em cima. Aprendi lentamente alguns truques, como
excisar os bordos chanfrados, e mesmo alguma coisa mais
sofisticada, como os plasties para modificar o eixo da lacera��o de
103
modo a reduzir as cicatrizes. Comecei a apreciar aquele trabalho,
porque era na realidade um problema que tinha uma solu��o clara e
indicada que aprendi depressa a resolver. Fazia-me sentir �til, e
essa era uma sensa��o rara e apreciada.
Essa experi�ncia podia ser-me �til agora. o surfista estava �
minha espera, com um len�ol a tapar-lhe a cabe�a. Comecei a limpar
e a anestesiar a �rea com xiloca�na, atrav�s do orificio do len�ol.
Depois de ter aparado bem os lados, mantive a agulha com a sutura
de nylon ao centro da lacera��o, e a apenas alguns mil�metros de
um dos lados. Guiada pelo movimento do meu pulso, a agulha
perfurou a pele, atravessou a lacera��o e emergiu do lado oposto.
Retirei-a com o porta-agulha. Depois, quase n�o tocando nos lados
da incis�o com a agulha, puxei novamente a sutura para o lado
original e atei-a, n�o muito apertada, deixando-a um pouco solta
para que o incha�o da ferida juntasse os lados. Precisei apenas de
mais quatro suturas para finalizar.
o outro paciente era uma rapariga um tanto misteriosa de cerca
de 20 anos, que parecia ser uma doente cr�nica. Admitiu ter sido
diagnosticada e recebido tratamento para lupus critematoso
sist�mico. o pr�prio nome da doen�a era um tanto misterioso, e o
lupus �, na realidade, uma doen�a grave. Era uma das doen�as que
havia discutido na escola m�dica, uma vez que, sendo de tal modo
rara e mal compreendida, se tornava adequada para a especula��o
acad�mica. N�o me sentia por isso completamente desamparado, a
n�o ser em rela��o � dor abdominal de que ela se queixava, e que
n�o era um sintoma habitual na doen�a. Tentando relacionar as
duas coisas, apalpei-lhe o abd�men e fiz-lhe perguntas acerca do
seu estado, enquanto a m�e ou ela respondiam. Depois, necessitei
de pensar, dirigi-me para a secret�ria no centro das emerg�ncias,
arrasei o c�rebro � procura de uma rela��o entre a dor e a doen�a.
Enquanto tentava encontrar um teste ex�tico para obter algum dado,
resolveram ir-se embora, alegando que a dor havia desaparecido,
agradeceram-me, e sa�ram. L� se ia o meu diagn�stico misterioso e
um dos casos de emerg�ncia que os quatro anos na escola m�dica
me haviam preparado para lidar.
104
Nessa altura, o Quase apareceu precipitadamente e
praticamente desfaleceu � minha frente, pondo a cabe�a na
secret�ria. Chamava-se Fogarty, na realidade, mas n�s cham�vamoslhe
Quase porque s� aparecia invariavelmente no �ltimo momento
nas emerg�ncias para ser tratado da asma. Era como esperar que a
gasolina acabasse para s� nesse momento parar no posto. As
enfermeiras levaram-no, azul e ofegante, para um dos quartos,
enquanto eu preparava um pouco de aminofilina. J� havia tratado
dele diversas vezes, a come�ar pelo meu segundo dia das urg�ncias.
Havia aprendido muito na escola m�dica sobre a asma em termos
de gradientes de press�o pulm�nica, as altera��es do pH, as
fun��es dos m�sculos e o fen�meno al�rgico. Sabia ainda os
medicamentos que poderiam ser �teis, como a epinefrina, a
aminofilina, o bicarbonato, a teofilina e os ester�ides. Mas n�o
sabia quais as doses. Por isso, da primeira vez, enquanto o Quase
se encontrava ofegante em outro quarto, ligado � m�quina
respirat�ria de press�o positiva, corri para os aposentos do pessoal
m�dico e procurei nos livros quais as doses a dar. Tudo, menos
perguntar �s enfermeiras. Na realidade, nos casos dos pacientes
internados, sabia as doses a dar a um paciente convalescente. Mas
este tipo estava ali, n�o era convalescente, e havia uma grande
diferen�a. N�o se podem aplicar as mesmas doses. Teria sido
desmoralizador perguntar �s enfermeiras. De qualquer modo, o velho
Quase e eu d�vamo-nos bem, e uma IV de aminofilina dava
geralmente resultado.
As emerg�ncias est�o por vezes t�o cheias de gente que os
pacientes t�m de se sentar no ch�o, ou encostar-se �s paredes; o
normal era ter uma grande quantidade de gente, cerca de cento e
vinte ou mais nos dias de semana, e duas vezes mais aos s�bados.
Eram agora 10 e 30 da manh�. As pessoas tinham come�ado a
aparecer, e l� estava eu, andando rapidamente de quarto em
quarto, telefonando aos m�dicos particulares, n�o pensando
demasiado, quase sem dar pelo medo omnipresente do pr�ximo
caso complicado.
105
Um dos relat�rios dizia : "Queixa maior: depress�o". Era uma
senhora de 37 anos. Acendeu um cigarro, assim que entrei na sala,
tapando o cigarro com a m�o, como se houvesse vento. Atirou a
cabe�a para tr�s, com o cigarro precariamente preso a um canto da
boca, e olhou-me com uma express�o vazia.
- Desculpe, minha senhora, mas n�o pode fumar aqui. Aquelas
garrafas verdes est�o cheias de oxig�nio.
- Est� bem, est� bem. - Apagou o cigarro vagarosamente num
pequeno prato de metal inoxid�vel que havia sido acidentalmente
esquecido na mesa de observa��es, obviamente irritada. Ficou
calada. Assim que o cigarro ficou completamente destru�do, olhou
para mim agressivamente, pronta a explodir, pensei.
- Chama-se Carol Narkin, n�o � assim?
- � isso mesmo. o senhor � o �nico m�dico daqui? - Estava a
provocar-me.
- Sim, sou o �nico aqui, no momento. Mas podemos telefonar ao
seu m�dico, se quiser. Chama-se Laine, segundo diz o relat�rio.
- � isso mesmo, e � um m�dico �ptimo - respondeu, na
defensiva. Tem tido consultas, ultimamente? - Tentava acalm�-la com
perguntas de rotina, esfor�ando-me por perceber por que raz�o se
havia dirigido �s Urg�ncias.
- N�o se arme em esperto comigo, Doutor.
- Desculpe, Miss Narkin, mas tenho de lhe fazer algumas
perguntas.
- Bem, mas eu n�o vou responder. Chame o meu m�dico. - Olhou
para outro lado, zangada.
- E que devo dizer ao seu m�dico, Miss Narkin? - N�o se moveu.
- Miss Narkin?
N�o podia obviamente ajud�-la, e por isso sa�, pensando em ir
ver o pr�ximo paciente. Afinal por que tinha ela vindo aqui? N�o
fazia sentido telefonar ao seu m�dico sem ter relat�rio nenhum a
dar-lhe. Quando regressei para a ver alguns minutos depois, haviase
ido embora. Era t�pico do trabalho das emerg�ncias, encontros
breves e inconclusivos e uma quantidade de tempo perdido.
A seguir, a enfermeira entregou-me cinco fichas e apontou um
106
pouco acanhada para os pr�ximos pacientes no quarto seguinte,
onde fui confrontado com uma fam�lia inteira: a m�e, o pai, e tr�s
mi�dos, que estavam � espera de tratamento.
Foi a m�e que falou:
- Sr. Doutor, viemos porque o Johnny est� cheio de febre e tem
tosse.
Olhei para a ficha.
- Temperatura, 37,5 graus.
- E j� que aqui estamos, pensei que n�o se importasse de dar
uma olhada nestas manchas que a Naney tem na l�ngua. Mostra a
l�ngua ao Dutor, Nancy. E o Bill deu uma queda na escola a semana
passada. Est� a ver o joelho, a arranhadela? Por causa disso n�o
t�m ido � escola, e precisa de ir. E o George, o meu marido, precisa
que um m�dico lhe assine uma declara��o para a Seguran�a Social
por causa das costas, uma vez que n�o trabalha e que n�s
acab�mos de chegar da Calif�rnia. E eu tenho tido problemas com
os meus intestinos h� cerca de tr�s ou quatro semanas.
Olhei para eles. o marido n�o olhou para mim, e os mi�dos
estavam muito ocupados a tentar subir para a mesa de
observa��es, mas a m�e estava a adorar, e olhava para mim,
excitada. Afastei o meu primeiro impulso de os p�r dali para fora.
Deviam ter ido � parte de cl�nica geral e n�o �s urg�ncias. N�o
est�vamos preparados para a rotina desses pacientes. Mas sabia
que se o fizesse a m�e apresentaria queixa ao administrador do
hospital, dizendo que eu n�o os atendera quando necessitavam. o
administrador iria participar o caso aos m�dicos do servi�o de
ensino e eu acabaria por me lixar. Era esse o apoio com que podia
contar.
Al�m disso, ainda era de manh�; o sol cintilante brilhava l� fora
e sentia-me bem. Para qu� estragar tudo? Por isso, em vez de me
irritar, observei cuidadosamente as manchas e o arranh�o, e deilhes
alguns comprimidos. Mas recusei assinar o papel da Seguran�a
Social. N�o podia analisar as costas com os recursos que havia nas
urg�ncias; e na maior parte das vezes tratava estes tipos e via-os
107
no dia seguinte a andarem por ali de moto.
o paciente seguinte era um alco�lico de nome Morris, que
tamb�m era uma visita frequente das urg�ncias. A sua ficha dizia:
"Embriagado, com escoria��es v�rias"; a descri��o condizia. o
homem tinha aparentemente ca�do de um lance de escadas, como
de costume. Assim que entrei no quarto, levantou-se com
dificuldade, com as p�lpebras a cobrirem-lhe parte dos olhos, e
berrou:
- N�o quero um interno, quero um m�dico! - � incr�vel como
coment�rios desse tipo me afectam na parte mais sens�vel do
c�rebro causando tal devasta��o. Aquele b�bado est�pido ofendeume
realmente. Fez-me tomar novamente consci�ncia de que tinha
que recorrer aos livros muitas vezes para verificar uma dosagem, que
estava assustado muitas vezes, que tinha passado quatro anos a
decorar um milh�o de factos e n�o parecia saber nada. N�o
consegui conter-me com ele.
- Cale-se, seu b�bado! - gritei.
- N�o sou b�bado!
- Mais um coment�rio desses e ponho-o daqui para fora.
- N�o estou b�bado. H� anos que n�o bebo.
- Est� de tal modo b�bado que nem consegue manter os olhos
abertos.
- N�o estou nada. - Quase caiu da mesa de observa��es s�
para me apontar o dedo.
- Est�, sim. - o nosso n�vel de comunica��o n�o era muito
elevado. Continu�mos esta conversa infantil enquanto o examinava
sumariamente e lhe batia com o martelo de borracha nos tend�es
de Aquiles, provando assim que ainda havia sentido do tacto nas
suas extremidades inferiores. Acabei por o mandar para os raios-X,
mais para me ver livre dele do que para observar os ossos, por
debaixo das escoria��es.
�quela hora da manh� j� avan�ada, o n�mero de pacientes que
chegavam come�ou a ultrapassar os que sa�am. Apareceu um grupo
de beb�s a chorar, ao mesmo tempo, como por conspira��o, e foram
108
distribu�dos por diversos quartos. N�o gostava muito de tratar
beb�s. Era um pouco como o meu conceito de medicina veterin�ria -
n�o havia comunica��o com o paciente. Era obrigado a ignorar a
crian�a, na maior parte das vezes, e tentar compreender o que a
m�e dizia. Al�m disso, era praticamente imposs�vel ouvir alguma
coisa com o estetosc�pio no peito de uma crian�a de 2 anos a
berrar. Os problemas habituais restringiam-se a constipa��es,
diarreia e v�mitos, n�o era nada de grave. Os mi�dos pareciam
esperar a minha chegada para urinar ou defecar enquanto os
examinava.
Aquela manh� de s�bado n�o era excep��o. Havia crian�as por
todo o lado, a brincarem como de costume. o primeiro beb� tinha um
corrimento no ouvido direito havia v�rios dias, e a m�e pensara que
fosse da alimenta��o em boi�es, mas tinha ficado desconfiada
quando a descarga havia continuado depois de lhe ter mudado a
dieta. Pela higiene geral de ambos, pensei realmente que fosse
esse o problema, mas verificou-se tratar-se de pus. o beb� tinha
uma grande infec��o em ambos os ouvidos m�dios, por detr�s dos
t�mpanos. Havia uma rotura no t�mpano direito, o que havia causado
a descarga. o t�mpano esquerdo estava ainda intacto, inchado pela
press�o. Teria sido aconselh�vel fazer um pequeno orif�cio no
t�mpano esquerdo para a sa�da do pus, mas n�o sabia como o fazer,
e, ao falar com o m�dico particular, ele apenas me disse para o
tratar com medicamentos, penicilina, como de costume, e gantrisina,
um medicamento com sulfanamida. Quando salientei que a rotura do
t�mpano era algo s�rio, ele afastou-me do caso, dizendo que veria a
crian�a no domingo de manh�. Embora na d�vida, receitei penicilina
e gantrisina.
o beb� seguinte n�o tinha comido bem durante toda a semana.
Era realmente uma emerg�ncia. o outro havia tido diarreia, mas
apenas uma vez. Parecia-me incr�vel que uma m�e se dirigisse ao
hospital depois de um pouco de diarr�ia, mas depressa aprendi que
nas urg�ncias nada � incr�vel. As outras crian�as sofriam de
constipa��es, nariz entupido e temperaturas um pouco elevadas.
109
Para fazer o exame completo, tinha de verificar cada ouvido,
cada garganta. Era uma tarefa mais parecida com luta livre que com
Medicina. As crian�as, mesmo as mais pequenas, s�o
surpreendentemente fortes, e embora pedisse �s m�es que lhes
segurassem os bra�os durante o exame, largavam-nos
invariavelmente e os mi�dos agarravam no otosc�pio, puxando-o e
trazendo-o com umas gotas de sangue do canal auditivo. Isso
tornava toda a gente alegre e confiante, naturalmente, mas tinha de
fazer uma nova tentativa, enfiando-o no pequeno orif�cio do ouvido
da crian�a, que se contorcia e gritava. Se algum deles tinha
realmente uma temperatura alta, como seja 38 graus ou mais,
aconselhava as m�es a darem-lhe banhos de �gua t�pida com uma
esponja. Haviam aparecido nessa manh� dois casos dessa natureza.
As urg�ncias tornavam-se muitas vezes uma cl�nica pedi�trica, no
conjunto. Havia, naturalmente, casos de urg�ncia normais, mas n�o
tantos como o p�blico imagina. A maior parte dos casos eram
triviais, problemas que poderiam facilmente ser resolvidos na
cl�nica.
Foi ent�o que aconteceu algo estranho e horr�vel, e o pessoal
ficou sombrio e silencioso por diversas horas. Uma manh�, uma
senhora morena e pequena entrou silenciosamente, transportando
um beb� num cobertor cor-de-rosa. Na altura, n�o lhe prestei muita
aten��o, uma vez que estava ocupado com outro paciente. A
enfermeira pegou numa ficha em branco e desapareceu com ela.
Reapareceu alguns segundos depois a dizer que tinha de ver a
crian�a imediatamente. Assim que entrei na sala, a crian�a estava
ainda embrulhada no cobertor cor-de-rosa. Ao abri-lo, vi uma crian�a
de um negro azulado, com o abd�men inchado e duro como uma
pedra. N�o tinha a certeza da altura em que havia morrido, mas
imaginava que a morte teria ocorrido cerca de vinte e quatro horas
antes. A m�e havia-se sentado a um canto, sem se mover. N�o
fal�mos; nada havia a dizer. Olhei para a crian�a, fiz uma
observa��o na ficha e sa�.
Cerca de uma vez por semana, aparecem pais hist�ricos com uma
crian�a com convuls�es. A crian�a � geralmente bastante nova, e da
110
primeira vez que vi uma nesse estado quase desmaiei de
ansiedade. Era uma mi�da de cerca de 2 anos, Estava toda
enrolada, com os bra�os fechados de encontro ao peito; escorria-lhe
saliva e sangue da boca e o corpo estremecia todo com convuls�es
r�tmicas e sincronizadas. Como era costume nestes casos, deixara de
ter controlo sobre a urina e as fezes. Sentindo-se ainda assustados,
mas tamb�m um pouco aliviados pelo facto de o m�dico ali estar,
colocaram a rapariguinha na mesa de observa��es. Uma vez que
estavam demasiado hist�ricos para poderem ajudar, mandei-os
esperar l� fora. Tamb�m queria evitar que julgassem as minhas
ac��es - ou inac��es - porque, na realidade, n�o sabia que fazer.
Foi ent�o que uma das enfermeiras me salvou, entregando-me uma
seringa e oferecendo-se para segurar na crian�a enquanto tentava
encontrar uma veia. Lembrei-me subitamente: IV de amobarbital. o
problema agora era conseguir injectar a solu��o. Era dif�cil encontrar
uma veia, mesmo numa crian�a sossegada. Numa que est� com
convuls�es, � praticamente imposs�vel. A quantidade a injectar era
outro dilema, mas pensei em dar apenas um pouco e testar a
reac��o. Consegui encontrar finalmente uma veia, depois de v�rias
tentativas frustradas, e injectei-a, e as convuls�es come�aram a
abrandar e depois desapareceram; continuou a respirar, gra�as a
Deus. o meu terror em rela��o a crian�as convulsivas decresceu um
pouco depois desta experi�ncia, especialmente depois de ter
aprendido a usar Valium, ou paralde�na e fenobarbital em IV. Mas
da primeira vez podia n�o ter resultado.
Aconteceu-me tamb�m apanhar um susto ainda maior com
crian�as num caso semelhante. Serviu apenas para aumentar a minha
inseguran�a, uma vez que foi uma situa��o que se deteriorou nas
minhas m�os e me deixou completamente sem saber o que fazer. Era
um mi�do de cerca de 6 anos, engra�ado, que havia sido trazido
para as urg�ncias assustadoras pelos pais sol�citos. N�o estava a
sentir-se muito bem, o que era vis�vel, pois j� havia vomitado tr�s
vezes e tinha outros sintomas da gripe. Tanto para descanso da
crian�a como dos pais, tratei-o com um medicamento antiem�tico
111
chamado Compazine, que era algo queliavia utilizado centenas de
vezes com sucesso depois e uma opera��o. Tive, contudo, uma
dessas reac��es adversas que se podem ler na posologia - o tipo
de epis�dio de que os vendedores dos med�camentos n�o gostam
muito de falar, e que os m�dicos v�em raramente. A crian�a entrou
num estado convulsivo cerca de dois minutos depois de levar a
injec��o, os olhos reviraram-se, n�o conseguia estar sentado e
desenvolvera um tremor r�tmico �bvio. Os pais estavam horrorizados,
especialmente depois de eu lhes ter explicado antes que o rapaz
n�o estava seriamente doente. Resolvi aplicar um pouco de
fenobarbital para acalmar a crian�a, e j� que estava a faz�-lo,
deveria dar tamb�m um pouco aos pais e a mim pr�prio. Tive de
acabar por internar a crian�a no hospital. N�o ser� necess�rio
explicar que nem os pais nem eu pr�prio fic�mos muito satisfeitos
com esta actua��o.
E assim passou a manh� de s�bado, uma combina��o de uma
cl�nica pedi�trica glorificada e uma f�brica de suturas, e uma crise
real, ocasionalmente. As tarefas de sutura haviam sido r�pidas e de
rotina. o �nico que me havia perturbado havia sido o homem de
barba, mas o tempo e o t�dio afastaram-no suficientemente, de
modo que o dia se tornou um dia t�pico de monotonia generalizada,
apenas quebrada por alguns momentos de terror e incerteza.
Na realidade, come�ava a apreciar a rotina r�pida e diferente
das urg�ncias. Os pacientes que requeriam mais aten��o da minha
parte eram aqueles com quem me havia envolvido emocionalmente
de algum modo. Lembrava-me ainda de como tudo era diferente,
seis meses atr�s, no in�cio do meu internato. Por exemplo, havia
ficado bastante tocado em rela��o a Mrs. Takura. T�nhamo-nos
tornado amigos; a sua longa opera��o, durante a qual segurara os
retractores, impedido de ver a sua incis�o, havia sido um trauma
f�sico e emocional. Quando finalmente terminara, havia ido com Jan
para a praia, com a convic��o de que ela se iria conseguir safar.
Quando regressei e soube que havia falecido, foi como se me
tivessem dado um �ltimo golpe no desapontamento do meu trabalho
como interno. Tinha-me fartado do sistema - dos trabalhos
112
insignificantes e aborrecidos de todos os dias, dos retractores, da
falta de ensino e do medo constante e torturante do fracasso. Levei
bastante tempo a ultrapassar a morte de Mrs. Takura, e no final n�o
aceitei o seu destino, mas tentei p�r tudo isso de lado, jurando n�o
me envolver emocionalmente outra vez. Assim, tornou-se mais f�cil,
sem me envolver com os pacientes. Comecei a pensar neles em
termos duros e c�nicos, em rela��o a hernorr�idas, ap�ndices ou
�lceras g�stricas.
Roso tamb�m me tinha feito sofrer. Ao contr�rio de Mrs. Takura,
a minha rela��o com ele desenvolvera-se durante v�rios meses.
Cheguei mesmo a cortar-lhe o cabelo, pois ele estava j� h� tanto
tempo connosco que o cabelo lhe ca�a desordenado pelas costas.
Ele n�o tinha dinheiro, por isso ofereci-me para lho cortar se
quisesse. Ficou encantado; parecia estar orgulhoso por estar vivo,
empoleirado na cadeira da alcova na enfermaria. Todos acharam
que o seu cabelo estava horr�vel.
Roso sorria sempre, mesmo quando se sentia muito mal, o que
acontecia na maior parte das vezes. Na realidade, sofria de quase
todas as complica��es imag�n�veis, e mesmo de algumas que n�o
estavam inclu�das na literatura m�dica. Continuou com v�mitos e
solu�os at� que se tornou imperativo realizar outra opera��o.
Encontrei-me novamente na minha posi��o familiar, agarrado �s
pe�as de metal, e a olhar para as costas do residente chefe durante
cerca de seis horas e meia, enquanto o Bilroth I de Roso era
transformado num Bilroth II; a bolsa do est�mago estava agora
ligada ao intestino delgado cerca de vinte e cinco cent�metros mais
abaixo do que era normal. Esperava-se que a opera��o acabasse
deste modo com os problemas de Roso, porque , o que causava a
obstru��o do seu sistema digestivo era exactamente a primeira
liga��o feita entre o est�mago e o intestino. Mas mesmo depois
desta segunda opera��o, o seu relat�rio era cr�tico; o seu percurso
fazia lembrar uma onda sinoidal. Os seus solu�os, v�mitos, a perda
de peso e v�rios epis�dios horrendos de hemorragias gastrointestinais
mantiveram-me bastante ocupado - em especial as
113
hemorragias. Uma semana depois da opera��o do Bilroth II, Roso
vomitou sangue puro e entrou rapidamente em choque. Permaneci
com ele v�rias noites a fio, irrigando continuamente o seu est�mago
com salina gelada e tirando o tubo naso-g�strico quando este ficava
entupido e pondo-o de volta. Conseguiu aguentar-se, de algum
modo, mesmo com os nossos erros e c�lculos errados, durante a sua
inexor�vel e agitada rota.
A seguir �s hemorragias, nada lhe permanecia no est�mago, at�
que tive a sorte de lhe conseguir introduzir o tubo naso-g�strico
pela anastomose direito ao intestino delgado. Recome�ando por a�,
alimentava-o directamente no intestino com uma alimenta��o
especial. Consegui mant�-lo assim alguns dias, mas acabou por ficar
com diarreia. At� que um dia espirrou e o tubo naso-g�strico saiu.
Tive de come�ar a aliment�-lo por intravenosa, durante cerca de
quatro meses, equilibrando o s�dio e o pot�ssio, e os i�es de
magn�sio. Come�ou a desenvolver uma infec��o na ferida, uma
inflama��o nas veias das pernas, um princ�pio de pneumonia e uma
infec��o urin�ria. Foi ent�o que nos apercebemos do abcesso no
diafragma, que era a causa dos solu�os; tivemos de voltar a fazer
uma nova interven��o cir�rgica. Roso conseguiu sobreviver a tudo
isto, de algum modo, e mesmo melhorar. Levou-me cerca de quatro
horas para completar o seu relat�rio; pesava cerca de dois quilos;
dois quilos da minha pr�pria escrita, frequentemente manchada com
sangue, muco e v�mito. Quando saiu finalmente do hospital, sentime
contente de o ver vivo e imensamente aliviado por se ter ido
embora. o seu caso e a minha liga��o a ele havia sido demasiado
para aguentar, por cima de tudo o resto. Houve alturas, durante as
hemorragias, quando lhe administrava as solu��es salinas, e ao
verificar o tubo, em que me interrogava se havia aceitado tudo isto
apenas como um desafio, porque toda a gente dizia que n�o iria
consegui-lo. Talvez n�o me interessasse por ele, talvez o estivesse a
usar para poder provar a mim mesmo que podia tratar de um caso
dif�cil. Por�m, acabei por deixar de examinar as minhas motiva��es
e comecei a pensar nos pacientes apenas no respeitante aos seus
problemas, como sejam h�rnias, ou fosse o que fosse que tivessem;
114
era muito menos cansativo desse modo. As urg�ncias tornavam-se
mais f�ceis deste modo. Estava-se sempre demasiado ocupado,
cansado ou assustado para poder pensar...
Eram j� onze e quarenta e cinco da manh�. Ia almo�ar, quando
uma mulher bastante p�lida, de cerca de 20 anos, entrou com mais
duas amigas. Depois de uma consulta breve com a enfermeira, a
rapariga p�lida seguiu-a para uma das salas de exames. As outras
duas sentaram-se bastante enervadas e acenderam cigarros. Podia
ouvir o som da pron�ncia nova-iorquina na sala de exames,
enquanto escrevia a �ltima frase na ficha de um beb� e o punha no
cesto de "Terminado". Desejoso de ir almo�ar, entrei na sala onde a
enfermeira e a rapariga se haviam dirigido. A ficha mencionava uma
hemorragia vaginal que durava havia dois dias, e um co�gulo,
naquela manh�. A rapariga tirou um cigarro do ma�o.
- N�o fume aqui, por favor.
- Desculpe. - Voltou a guardar cuidadosamente o cigarro, olhou
para mim e depois para outro lado. Era de estatura m�dia e usava
uma blusa de manga curta e uma minissaia. Com alguma cor no
rosto, poderia ser bonita. A sua conversa��o indicava que n�o
passara al�m do liceu.
- H� quantos dias dura a hemorragia?
- H� tr�s - respondeu. - Desde que fiz a D e C. - Est�vamos
ambos nervosos. Tentei mostrar-me calmo e seguro.
- Por que fez a D e C?
- N�o sei. o m�dico disse que eu teria de a fazer, e eu iriz, est�
bem?
Parecia irritada.
- Onde � que a fez, aqui ou em Nova Iorque?
- Em Nova Iorque.
- E depois veio logo para aqui?
- Sim - respondeu. Tinha realmente pron�ncia de Nova Iorque. O
facto de ter vindo logo a seguir para o Havai era um pouco
estranho. Uma viagem de cerca de seis mil milhas depois de ter
feito uma D e C n�o era um procedimento m�dico muito comum.
115
- Foi feita por um profissional? - perguntei.
- Claro que sim. Que quer dizer com um profissional? Quem mais
faria?
Que fazer? Se tivesse abortado - e tinha praticamente a certeza
de que o havia feito - sabia que iria ter algumas dificuldades em
encontrar um m�dico particular. E lembrava-me demasiado bem da
quantidade de raparigas, na escola m�dica, que haviam sofrido um
choque endot�xico de infec��es causadas por m�s D e C. Pode
acontecer tudo t�o rapidamente: os rins param e a press�o do
sangue vai a zero. Mas a press�o desta rapariga estava normal,
nesta altura. Estava a funcionar perfeitamente, noutros aspectos, a
n�o ser pelos nervos e a face p�lida. Perguntei-me se estaria a
tentar imaginar o que eu estava a pensar. N�o precisava de se
preocupar. N�o me interessava como havia ficado naquele estado, o
que me interessava era trat�-la. As hip�tese de descobrir a causa
exacta da hemorragia eram m�nimas. Teria provavelmente que
efectuar outro D e C. Nesse caso, tentaria localizar um ginecologista
particular, mas a maior parte deles tinha medo de se ver envolvida
num caso destes; tratar dos restos de outros, por assim dizer. De
qualquer modo, teria de fazer mais cedo ou mais tarde um exame
p�lvico, e era a �ltima coisa que desejaria fazer antes do almo�o.
Recordei o meu primeiro exame p�lvico. Fizera-o durante o
segundo ano da escola m�dica, nos diagn�sticos f�sicos. N�o tinha
quaisquer preconceitos, o que era �ptimo, porque a paciente era
uma senhora bastante pesada. Era uma paciente da cl�nica que
viera para fazer um check-up regular. A princ�pio, pensei que o meu
bra�o n�o fosse suficientemente longo para alcan�ar o �tero, e o
tipo que me sucedeu afirmou ter perdido o rel�gio - embora o
tivesse encontrado mais tarde no s�tio onde pusera as luvas.
Naquela altura, ainda n�o hav�amos tido qualquer experi�ncia no
campo da obstetr�cia ou da ginecologia, e aquela experi�ncia era
estranhamente desgastante. Mas depois de ter feito mais de uma
centena, tornou-se um exame de rotina como qualquer outro. o �nico
problema era encontrar o colo do �tero - o que pode parecer
116
absurdo, porque est� sempre l�. Mas o caso pode ser dif�cil, se
houver muito sangue e co�gulos, especialmente se a paciente n�o
cooperar. Al�m disso, tentamos n�o magoar a paciente. Por isso
compensa demorar um pouco mais de tempo e fazer um bom
trabalho. Mas n�o antes do almo�o.
- Estava gr�vida de quantos meses?-perguntei-lhe subitamente.
- o qu�? - Gaguejara de novo, surpreendida. Uma vez que era
necess�rio sab�-lo, n�o lhe respondi.
- Seis semanas - respondeu finalmente.
- Foi a um m�dico, ou a outra pessoa?
- Um m�dico de Nova Iorque - respondeu, resignadamente.
- Bem, vamos ver o que podemos fazer por si - respondi, e ela
acenou com a cabe�a com algum al�vio.
Ao sair da sala, preveni a enfermeira para estar pronta para um
exame p�lvico. Alguns minutos depois, a enfermeira reapareceu a
dizer que estava tudo pronto, e quando entrei de novo na sala a
paciente estava deitada com os p�s nos estribos, bastante nervosa
e com a saia enrolada � volta da cintura. Ao preparar-me para
inserir o esp�culo, n�o consegui evitar recordar-me de uma noite,
havia cerca de seis semanas, quando fora acordado por uma
enfermeira que afirmava n�o conseguir p�r um cat�ter numa
paciente idosa que tinha a bexiga cheia, porque n�o conseguia
encontrar o orif�cio certo. Levantei-me e ia j� a meio do caminho
para o hospital quando me dei conta do rid�culo da situa��o. Se ela
n�o o conseguia encontrar, como � que eu poderia? Mas consegui,
ao fim de algum tempo; era apenas uma quest�o de persist�ncia.
Era o que acontecia com o colo do �tero. o que era preciso era
persist�ncia. Consegui finalmente encontr�-lo, rodeado de sangue e
co�gulos, que limpei o melhor que pude. o orif�cio estava fechado, e
n�o foi derramado sangue novo quando lhe toquei levemente com a
esponja. Fiz press�o no abd�men, com grande desconforto da
rapariga, e nada. Foi ent�o que reparei num pequeno rasg�o, a
sangrar muito lentamente, no lado posterior do colo. Era esse o
problema, quase de certeza. Cauterizei-o com nitrato de prata,
chamei um ginecologista, expliquei-lhe o caso e fui almo�ar com um
117
sentimento �nico de realiza��o. Ainda tinha fome, milagrosamente.
Foi um almo�o r�pido, em que engoli rapidamente duas sandes
e um copo de leite, sem me preocupar com surf, cirurgia e sexo. N�o
era nada s�rio; apenas n�o tinha tempo para isso. Fiz mais uma
tentativa de planear fazer surf com o Hastings mais tarde, �s quatro
e meia. Carno estava a almo�ar numa mesa long�nqua, e, excepto
quando nos encontr�vamos por acaso no hospital, raramente
est�vamos agora juntos. Consegui tamb�m falar com Jan Stevens
durante alguns minutos. N�o a via muito, ultimamente, embora
durante os meses de Julho e Agosto, no in�cio do meu internato,
tiv�ssemos tido uma boa patuscada que terminara com um fim-desemana
diferente, numa viagem a Kauai.
o primeiro dia, s�bado, tinha sido �ptimo. Enchemos o carro com
cerveja, carnes frias e queijo, e dirigimo-nos para o grande
desfiladeiro de Kauai. Pelo caminho, a estrada elevava-se por entre
as nuvens, movimentando-nos por entre as canas-de-a��car que nos
molhavam enquanto as atravess�vamos. o desfiladeiro era ainda
maior e mais espectacular do que imagin�ramos. Encontrei um s�tio,
e Jan transformou as carnes frias e o resto em sandes. Pedi-lhe que
n�o falasse - uma precau��o necess�ria, porque assim como a nossa
rela��o crescia, tamb�m crescia o seu desejo de comunicar. A vista
era maravilhosa, com quedas de �gua, e arco-�ris brilhantes aos
lados dos vales das estepes que se ramificavam do desfiladeiro
central. Sentia-me completamente descansado.
J� no fim da tarde, dirigimo-nos para o final da estrada na
encosta situada a norte, mesmo no in�cio da costa de Napali. Armei
a pequena tenda emprestada num arvoredo isolado de �rvores
verdes, enquanto o sol se preparava para se p�r entre as pequenas
nuvens macias do horizonte, e mergulh�mos nus nas �guas
tranquilas protegidas pelo recife. Havia um acampamento no outro
lado da praia, mas isso n�o importava, embora me interrogasse
porque estavam t�o pr�ximos da �gua, muito mais do que n�s, num
grupo maior de �rvores.
Corremos para o carro, um pouco envergonhados. Vesti um par
118
de jeans brancos e Jan refugiou-se num blus�o de nylon. Nem mesmo
outra refei��o de carnes frias e cerveja podia destruir o ambiente. A
noite caiu rapidamente, com o som das ondas a baterem no recife,
que se confundia tamb�m com o da suave brisa a passar pelo
arvoredo. As criaturas nocturnas iniciaram a sua t�mida sinfonia, que
ia aumentando de intensidade at� quase abafar o som do mar no
recife. A leste, o c�u era apenas um borr�o vermelho. Jan estava
maravilhosa na meia luz, e a ideia de que nada trazia vestido
debaixo do blus�o de nylon era fantasticamente sexy. Na realidade,
estava delirante com a sensualidade do momento.
Volt�mos para a praia, mais uma vez nus. A lua cheia havaiana
flutuava na �gua no meio do arvoredo reflectido, quando entr�mos
na �gua; era uma cena de tal modo perfeita que n�o parecia real.
N�o aguentei nem mais um segundo. De m�os dadas, corremos
novamente para a tenda e ca�mos nos cobertores. Queria devor�-la,
manter aquele momento sempre presente na minha mente.
Comecei a dar-me conta do zumbido dos mosquitos lenta e
relutantemente. No nosso desejo de fazermos amor, tent�mos de
in�cio ignor�-los, mas come�aram a picar-nos, para al�m do zumbido
que faziam. Nenhuma paix�o poderia resistir a tal carnificina.
Nesses horr�veis sgundos, toda a atmosfera sensual havia
desaparecido, terminando com a fuga de Jan para outro abrigo, no
nosso Volkswagen. Tremendo de desejo, resolvi ficar na tenda em
vez de dormirmos apertados num carro que fora feito para an�es.
Enrolei-me num dos cobertores de tal modo que fiquei apenas com o
nariz e a boca de fora. Mesmo assim, fui picado pelos mosquitos de
tal modo que a minha face principiou a inchar, at� que me rendi, por
fim, voltando para o carro acompanhado por uma s�rie de mosquitos
que pareciam sentir-se t�o insatisfeitos como eu.
Bati na janela e Jan levantou-se, de olhos abertos, abrindo-me a
porta com al�vio assim que me reconheceu. Entrei, cansado, e disselhe
para voltar a dormir. Depois de ter morto os mosquitos que
entraram comigo, consegui adormecer nem sei como, debaixo do
volante, enrolado numa bola. Acordei cerca de duas horas depois a
119
suar. A temperatura e a humidade eram de tal modo que me parecia
estar num banho turco; era uma humidade espessa que se havia
condensado nas janelas. Ao abrir uma delas, senti uma corrente de
ar fresco e entraram cerca de cinquenta mosquitos no carro. Era de
mais. Pus o motor a trabalhar, disse a Jan que acalmasse e dirigimonos
para a estrada principal para Lihue, at� encontrar uma zona
mais alta e fresca, onde consegui dormitar um pouco at� o sol
nascer. o meu pequeno-almo�o constou de p�o com queijo, formigas
e areia, acompanhado de cerveja morna, tudo isto comido debaixo
da capota do carro. Acordei Jan e volt�mos para a cidade.
Jan e eu afast�mo-nos um pouco desde essa altura. N�o que eu
a culpasse pelo fim-de-semana. Isso aconteceu porque come�ou a
queixar-se um pouco, especialmente depois de termos dormido
juntos, a querer saber se eu a amava, e porque n�o, e em que
pensava eu. Amava-a algumas vezes, numa forma um pouco dif�cil de
explicar; em rela��o ao que eu pensava, na maior parte das vezes
em que est�vamos junto, devaneava. De qualquer modo, n�o podia
aguentar as suas perguntas. Tinha-se simplesmente tornado mais
conveniente deixar que a nossa rela��o se tornasse apenas numa
amizade casual. Mas gostei de a ver no bar. Ela era realmente
bonita.
As urg�ncias haviam-se modificado por completo naqueles
quinze minutos em que fora almo�ar. Havia um novo grupo de
pessoas � espera de serem atendidas e oito novas fichas no cesto.
N�o eram obviamente urg�ncias, na realidade, ou as enfermeiras
ter-me-iam chamado antes. Eram apenas tratamentos de rotina. Um
dos pacientes era um velho conhecido das urg�ncias, que vinha para
receber a sua injec��o de xiloca�na para tratamento de um alegado
problema nas costas. As suas apari��es eram de tal modo
frequentes e previs�veis que as enfermeiras tinham j� a seringa
pronta e � minha espera no tabuleiro ao lado do paciente.
Cham�vamos-lhe KidXiloca�na, e havia desenvolvido um certo
conhecimento acerca do seu estado, enquanto me dava indica��es
sobre o s�tio onde inserir a agulha, como o fazer e a quantidade.
Embora sentindo-me um pouco irritado com o ritual, fazia, contudo,
120
como ele dizia; suspirava de al�vio e ia-se embora.
Ao dirigir-me para a sala B, fui cumprim entado mais uma vez
pelo meu amigo b�bado Morris, que voltara finalmente dos raios-X.
Deitado na mesa de observa��es e preso por um cinto na cintura,
segurava um sobrescrito cor de manilha onde se encontravam os
raios-X. Saudou-me.
-Tenho sempre que ser visto por um raio de um interno. Nem sei
por que continuo a vir aqui. - o almo�o havia-me deixado bem
humorado e consegui ignorar de algum modo a sua conversa fiada
enquanto verificava as radiografias, uma de cada vez, erguendo-as
em frente �janela. N�o esperava encontrar uma situa��o grave, a
n�o ser, talvez, no bra�o esquerdo, mas a radiografia n�o estava
muito vis�vel. Lembrei-me de que Morris me havia bombardeado com
uma s�rie de obscenidades na altura em que lhe apalpei o bra�o e
o fiz rodar. Talvez houvesse alguma coisa, de facto. Verifiquei
novamente as radiografias; o joelho esquerdo, o direito, p�lvis, o
pulso direito, cotovelos, por a� fora, sem nada encontrar no bra�o ou
ombro esquerdo. N�o havia outra coisa a fazer a n�o ser chamar a
enfermeira para enviar Morris de novo aos raios-X.
- Eles v�o ador�-lo, Doutor, ele aterrorizou o departamento
inteiro durante toda a manh� e f�-los usar duas caixas de filme -
disse a enfermeira.
- Isso n�o me surpreende - respondi, pegando num grupo de
fichas novas e dirigindo-me para a sala C.
Os beb�s da parte da tarde eram muito parecidos com os da
manh�; sofriam quase todos de constipa��es e diarreia. Um deles
tivera de ser anhado com esponja, pois tinha uma febre alta, e
outro, de cerca de anos, precisava de uma sutura no queixo. Suturar
uma crian�a � uma opera��o realmente dif�cil. o terror de terem de
vir para o hospital, por vezes a sangrar e com dores, � muitas vezes
agravado pelo facto de terem de ser presos numa arma��o
semelhante aos sacos em que as �ndias transportam os filhos �s
costas, para os conseguirmos imobilizar. Mas nem mesmo esse
m�todo conseguiu imobilizar esta crian�a; era como tentar atingir um
121
alvo m�vel. A parte pior para ele era o facto de estar debaixo do
len�ol com o orif�cio. Depois da injec��o de xiloca�na, n�o sentiu
dores, apenas uma certa press�o e o repuxar da agulha. Mas isso
n�o impediu que continuasse a gritar e a detestar o que estava a
passar-se. Tamb�m eu.
Na outra sala, encontrei um homem de 32 anos que trazia um
cat�logo de queixas, que come�avam com uma garganta irritada e
continuavam pelo resto do corpo. o seu verdadeiro objectivo era ser
internado no hospital, e quando se apercebeu de que uma garganta
irritada n�o me havia impressionado muito, passou a queixar-se de
uma dor no lado direito do peito. Disse-lhe, finalmente, que o
hospital estava superlotado, s� para testar a sua reac��o. Ficou
furioso, queixando-se de que sempre que se precisava do hospital
este estava cheio.
A tarde passou de uma forma despreocupada e ocupada. Nesta
altura, j� havia examinado sessenta pacientes, o n�mero normal,
sem ter tido muitas preocupa��es. Mas a noite aproximava-se, e as
noites de s�bado significavam sempre problemas. Entraram dois
homens idosos que sofriam de asma e as enfermeiras puseram-nos
em quartos separados ligados �s m�quinas de press�o positiva
para respirarem. o homem da sala C respirava com dificuldade, o
esterno estava quase a rebentar com a inspira��o, tinha as costas
direitas e as m�os nos joelhos. Perguntei-lhe se fumava. N�o,
respondeu, h� anos que deixara de fumar. Aproximei-me e tirei-lhe
um ma�o de Camel do bolso da camisa, enquanto os seus olhos
seguiam os meus movimentos. Quando olhou para mim, depois de
ver os cigarros, n�o consegui evitar um sorriso ao ver a sua
express�o, t�o c�mica e contudo t�o humana. Era como se tivesse
apanhado um mi�do a fazer uma asneira. Parte do encanto das
urg�ncias era constitu�do pela demonstra��o de humanidade
generosa e pr�diga nas suas variedades.
Os velhos conhecidos continuavam a aparecer. Outro b�bado, j�
bastante conhecido, entrou cambaleante, a queixar-se de uma
queda de uma cadeira de baloi�o que o deixara com uma �lcera
122
cr�nica na perna! Havia visto aquela �lcera antes, na altura em que
estivera como paciente na enfermaria; e tinha sido uma �poca dif�cil
de esquecer, essa, para todos n�s. Apesar das medidas rigorosas
de seguran�a, conseguira manter-se b�bado durante dias a fio, e a
sua alta fora apressada quando o residente chefe o encontrou atr�s
do banco de sangue com duas garrafas de Old Crow e uma paciente
feminina. Tratei-o da ferida e disse-lhe para voltar para a cl�nica na
Segunda-feira.
Uma ambul�ncia apareceu subitamente sem ser anunciada por
entre o choro dos beb�s constipados e dos b�bados, sem sirene
nem luzes vermelhas. Isso significava que n�o se tratava de uma
urg�ncia grave. Assim que retiraram a maca, foi-me revelada uma
senhora magra, de cerca de 50 anos, com a roupa suja e velha.
Segui uma das enfermeiras, que dizia que n�o havia sido poss�vel
conseguir reac��o alguma da senhora. Tamb�m n�o consegui. Ficara
apenas a olhar para o tecto, com a respira��o pesada.
Tinha uma pequena lacera��o na testa, mas que n�o dava nem
para fazer uma sutura. Parecia estar plenamente consciente, mas
mantinha-se, contudo, completamente im�vel. Iniciei a tarefa de a
examinar fazendo um exame neurol�gico, testando primeiro as
pupilas e os reflexos em seguida. Nada havia de errado. Mas assim
que tentei fazer o teste de Babinski, que se resume a uma
raspagem leve na planta do p� com uma esp�tula, ela praticamente
saltou, gritando que nada havia de errado no p�, que era na cabe�a
que se tinha ferido, e por que raz�o estava eu a brincar com o seu
p�? Saltou da mesa de observa��es e desapareceu, com uma
enfermeira a correr atr�s dela. Por fim, contact�mos a administra��o
do hospital e a pol�cia, que a levou, enquanto ela gritava que
estava bem.
Na sala F encontrava-se um homem idoso a quem se tinham
acabado os comprimidos diur�ticos, ou eliminadores de l�quidos, e
cujas pernas estavam inchadas com fluido excessivo. Descobri que
era uma dessas pessoas que t�m o fant�stico dom de falar
ininterruptamente sem aparentemente dizerem nada. Fui inundado
por uma torrente de palavras enquanto o examinava. Falou da sua
123
percep��o extra-sensorial, de quantas vezes a havia utilizado,
especialmente para comunicar com a mulher, que havia morrido
alguns anos antes. Fiz uma pausa para o ouvir, contrariado,
enquanto ele descrevia como podia destilar uma garrafa de �gua
para o seu modelo de universo. Na realidade, ele imaginava que a
Terra era apenas uma pequena por��o de uma mol�cula gigantesca
de outro universo em outra dimens�o. Dei-lhe um frasco de
comprimidos, ainda um pouco fascinado, e disse-lhe que os tomasse
durante uma semana, para se aguentar sem eles durante um tempo
e depois peguei na ficha seguinte.
Era importante ouvir esses pacientes, apesar da sua loucura e
trivialidade. De vez em quando, as divaga��es eram significativas.
Apareceu certa vez na escola m�dica um homem nas urg�ncias a
queixar-se de ter ingerido v�rios copos sem o acompanhamento
habitual de p�o. o interno e o residente come�aram a encaminh�-lo
para a porta, sugerindo-lhe que voltasse de manh�, quando o
servi�o de psiquiatria se iniciasse. Ao ver a sua descren�a, o homem
enfiou a m�o no bolso do interno, tirando um tubo de ensaio e uma
esp�tula de madeira para ver a garganta, mastigou-os e engoliu-os,
perante o ar incr�dulo do pessoal m�dico. Trouxeram-no de novo
para dentro e deitaram-no na sala de exames, sugerindo-lhe
delicadamente que ficasse l� essa noite. Visto aos raios-X, o seu
est�mago parecia um saco com berlindes partidos.
- Maldito hospital. Nunca mais c� volto. Para a pr�xima vou para
St. Mary - disse o ub�quo Morris, enquanto o levavam na mesa de
exame. Era evidente que me iria perseguir durante o resto do dia,
embora me sentisse um pouco aliviado por ver que trazia consigo as
radiografias do bra�o. Afinal, talvez me conseguisse ver livre dele.
- H� uma chamada para si no 84, Doutor - disse uma das
enfermeiras.
Estava a tentar ligar para um certo Dr. Wilson, m�dico particular
de um dos pacientes que dera entrada e que sofria de uma infec��o
do tracto urin�rio, e j� ia na minha terceira tentativa v�. Marquei o
84, um pouco frustrado.
124
- Dr. Peters ao telefone.
- Sr. Doutor, o meu filho est� com uma dor de cabe�a terr�vel, e
n�o encontro o meu m�dico. N�o sei que hei-de fazer. - Continuei a
ouvi-la, e aos beb�s que choravam em fundo. N�o t�nhamos
necessidade de mais um paciente de aspirina, mas n�o lhe podia
dizer que n�o. Respondi-lhe, um pouco relutantemente:
- Se est� realmente convencida de que o seu filho se encontra
doente, ent�o traga-o para as urg�ncias.
- Doutor, tem outra chamada na 83. - Pedi � enfermeira que n�o
desligasse, enquanto tentava mais uma vez ligar para o Dr. Wilson,
� espera do sinal de ocupado. Por acaso, o telefone tocou e o Dr.
Wilson atendeu.
- Dr. Wilson, tenho aqui uma paciente sua, uma Mrs. Kimora.
- Mrs. Kimora? N�o me recordo dela. Tem a certeza de que �
minha doente?
- Bem, pelo menos ela diz que �. - Acontecia frequentemente os
m�dicos n�o se lembrarem dos nomes dos seus pacientes. Talvez
uma descri��o do problema lhe avivasse a mem�ria. - Sofre de uma
infec��o do tracto urin�rio, com sensa��es fortes de ardor ao urinar,
e em rela��o � temperatura...
- D�-lhe um pouco de Gantrisina e mande-a ao meu consult�rio
na segunda-feira - disse, interrompendo-me.
Fiz uma pausa, lutando com o impulso de desligar. Por que n�o
queria ele ouvir falar do caso - da febre, da an�lise de urina e da de
sangue?
- E que me diz de uma cultura? - perguntei.
- Claro, fa�a isso.
o.K. Marquei o 83 para receber a outra chamada.
- Doutor, acabei de evacuar e havia sangue nas fezes.
- Era vermelho-vivo no papel higi�nico?
- Sim. - Cheg�mos � conclus�o de que as suas hemorr�idas
veriam ser a causa do sangue, e que n�o necessitava de vir �s
urg�ncias, podia consultar o m�dico na segunda-feira. Desligou, com
um suspiro de al�vio e agradecendo-me profusamente. A enfermeira
tinha outra chamada � espera na 84, mas como esse g�nero de
125
coisas tem tend�ncia a n�o mais acabar, ignorei-a. Dirigi-me ent�o
a Mrs. Kimora e expliquei-lhe cuidadosamente como deveria tomar a
Gantrisina, que tinha de tomar dois comprimidos quatro vezes por
dia. Uma enfermeira levou a urina para fazer a cultura.
E agora, Morris. Estava deitado im�vel na mesa, e parecia
menos b�bado que antes, Dirigiu-me a sauda��o habitual.
- Quero ir-me embora daqui. - Pelo menos, nisso est�vamos
ambos de acordo. Peguei nas radiografias, pu-las contra a luz e
verifiquei imediatamente, com grande desapontamento, que tinha
uma fractura n�tida entre o cotovelo e o ombro, como se tivesse
levado um golpe de karate. Iria ficar connosco durante mais algum
tempo.
- Mr. Morris, o senhor tem o bra�o partido. - Olhei severamente
para ele.
- N�o tenho nada - contrariou. - o senhor n�o sabe o que est� a
fazer.
Querendo evitar cenas de teimosia, fiz a minha retirada e
escrevi rapidamente uma ordem, dirigindo-o aos cuidados do
ortopedista residente. A enfermeira ligou para o PBX e mandou
chamar o residente.
Est�vamos j� a meio da tarde e eu n�o tinha m�os a medir.
Cerca das quatro horas fomos inundados por um grupo de surfistas,
com cabe�as laceradas, dedos cortados e cortes profundos feitos
pelo coral. o surf � que estava a dar! Havia beb�s a chorar em cada
canto, com febre, diarreia e v�mitos. Eu n�o parava de fazer suturas,
de mandar pessoas para os raios-X e de tentar desesperadamente
observar o interior dos ouvidos de crian�as que n�o cooperavam.
Apareceu uma m�e muito agitada porque o seu filho tinha ca�do de
um terceiro andar para dentro da conduta do lixo. Senti-me tentado
a perguntar-lhe como � que aquilo acontecera, mas, em vez de fazer
perguntas, resolvi observar a crian�a, retirando-lhe peda�os de
cebola de dentro de um ouvido e algumas borras de caf� do cabelo.
Surpreendentemente, a crian�a estava bem. Contudo, mandei fazerlhe
uma radiografia, Porque tinha um bra�o um pouco mole, e
126
confirmei as minhas suspeitas; havia fracturado o bra�o pelo h�mero
direito, como seria de esperar, ap�s uma queda de tr�s andares
para dentro de um dep�sito de lixo.
Entretanto, iam-se acumulando radiografias de todas as
esp�cies, desde cr�nios a p�s. Eu era o primeiro a admitir n�o ser
muito bom a interpret�-las. Mas o sistema era assim mesmo. o
interno interpretava-as � noite e nos fins-de-semana. N�o
interessava minimamente se t�nhamos sido ou n�o treinados para
isso; t�nhamos de fazer o melhor que pod�amos. Tendo consci�ncia
da minha inexperi�ncia, tinha sempre receio de n�o reparar em
algum pormenor importante, especialmente depois da experi�ncia
humilhante do dedo do p�. o incidente ocorrera num s�bado � noite,
quando aparecera uma rapariga a coxear, agarrada ao namorado.
Havia partido um dedo do p�. Mandei fazer-lhe uma radiografia e o
namorado foi com ela. Cerca de uma hora depois, no meio do
pandem�nio, observei a radiografia, especialmente os metatarsos,
e disse-lhes que a radiografia apresentava resultados negativos...
e, nessa altura, o namorado interrompeu-me para dizer
tranquilamente que, quando a observara, lhe parecera nitidamente
haver uma fractura. Fiz uma pausa, engoli em seco e disse:
- Ali sim ? - Ele apontou para uma linha na falange m�dia do
terceiro dedo, queera suspeita, e que poderia ser... e era,
narealidade... uma fractura. Era para isto que servia o nosso treino!
Morris estava agora bem guardado na sala de ortopedia, fora
do meu alcance sonoro. o ortopedista residente havia aceitado o
caso, examinado Morris e as suas resmas de radiografias, e
desaparecera, depois de ter tentado, sem sucesso, contactar com o
pessoal de ortopedia de servi�o. Morris teria de ficar na sala de
ortopedia at� o pessoal ser contactado. Era, por isso, mais um
problema, mas, pelo menos, j� n�o era meu. Depressa me esqueci
dele.
Cerca das cinco e meia come�aram a aparecer os casos de
hiperflex�o do pesco�o, o traumatismo de chicotada. Era
matem�tico, mal o tr�nsito come�ava a aumentar havia mais
127
acidentes nas auto-estradas. As pessoas que se queixavam de ter
tido um acidente de autom�vel necessitavam de uma verifica��o
cuidadosa do pesco�o, um exame neurol�gico completo e uma
radiografia da medula cervical, antes de se poder chamar o m�dico
particular. E todas essas radiografias me pareciam iguais, e quando
retirei uma delas e a coloquei no expositor gigante no centro da
sala de urg�ncias senti-me t�o transparentemente vulner�vel como o
pr�prio negativo. Al�m disso, havia sempre muitos pacientes por ali,
a espreitar ansiosamente por cima do meu ombro, enquanto as
observava. S� esperava que ficassem impressionados com as minhas
artes m�gicas de conseguir deduzir tanta coisa daquelas
radiografias manchadas de negro, branco e cinzento, que
representavam ossos e tecidos. Na maior parte das vezes, por
considera��o para com os pacientes, demorava um certo tempo,
fingindo observ�-las por completo, levando um pouco mais de tempo
que o necess�rio em determinada parte do negativo. Na realidade,
nada do que poderia diagnosticar estava longe da verdade, ou
claramente fracturado, e isso demorava cerca de dez segundos a
descobrir. o resto era um palpite � sorte. Mas n�o queria
desapont�-los e, por isso, observava atentamente os negativos,
murmurando para mim mesmo e tomando notas, enquanto o doente
se encolhia, � espera do pior.
�s seis horas, o movimento caiu muito, podendo ent�o dar-me
ao luxo de um breve descanso. Comecei mesmo a adiantar servi�o,
e, depois de ter extra�do um anzol a um homem de meia-idade,
deixou de haver gente � espera. As urg�ncias tornaram-se
subitamente calmas; l� fora, o sol dourado da tarde deixara uma
sombra violeta no parque de estacionamento. Havia sempre uma
acalmia antes da tempestade, um armist�cio tempor�rio entre
batalhas. Sentindo-me s� e cansado - surpreendentemente s�, no
meio de tanta gente - resolvi ir jantar. Encontrei pelo caminho
algumas pessoas que esperavam uma boleia para casa. Os que
haviam sa�do das urg�ncias acenaram-me e sorriram-me; sorri-lhes
tamb�m, satisfeito por ter um novo contacto com eles e esperando
ter trabalhado bem. Conversar com os doentes fora do hospital fazia
128
que todos nos sent�ssemos mais reais e afastava o medo que nos
envolvia, quando esper�vamos qualquer coisa mais grave a toda a
hora.
Era uma experi�ncia agrad�vel, poder finalmente sentar-me.
Estiquei os p�s at� � outra cadeira por baixo da mesa. Joyce
apareceu e veio sentar-se ao meu lado, e isso era agrad�vel,
embora pouco tiv�ssemos a dizer um ao outro. Ela come�ou a
relatar-me os falat�rios do laborat�rio, a falar das contagens de
sangue, e tudo isso era uma amea�a de indigest�o; tamb�m n�o
queria falar sobre as urg�ncias. Jantei rapidamente, consciente de
que cada dentada podia ser a �ltima dessa noite. Pelo menos essa
parte da vis�o da Medicina que a televis�o mostra est� certa.
Acab�mos a conversar sobre surf com outro interno, Joe Burnett, de
Idaho.
Cada interno necessitava de um escape, de uma v�lvula de
seguran�a; a minha era o surf. Dava-me uma sensa��o de fuga e
escape perfeitos.
o ambiente era completamente diferente em rela��o ao som, �
vis�o e aos sentidos. Quando me encontrava na crista de uma onda,
a lutar, a concentrar-me em chegar a terra, n�o conseguia pensar
noutra coisa. � medida que os meses se foram passando, foi
aumentando o meu v�cio pelo surf, e comecei a compreender por que
motivo a maior parte das pessoas que o pratica segue o sol em
busca da onda perfeita. � muito mais saud�vel que as drogas e o
�lcool, mas vicia tanto como eles, e um mau passo pode matar-nos.
o Havai n�o faz muita publicidade a esse facto.
Mas mudemos de assunto. Mesmo que as ondas n�o fossem
perfeitas, haveria sempre a beleza que nos rodeia. E quem sabe?
Pode aparecer uma, a qualquer momento, a desafiar-nos. o surf � um
desporto muito especial, �nico mesmo, ao contr�rio de muitos
desportos, embora se pare�a superficialmente com o esqui. A �nica
diferen�a � que, quando se faz esqui, a montanha permanece
im�vel; numa onda, tudo se move - n�s, a montanha, a prancha, o ar
que nos rodeia - e quando se cai da prancha, numa onda grande,
129
n�o se sabe onde se pode ir parar. Joe e eu fal�mos de surf,
descrevendo entusiasticamente pequenos epis�dios, com os p�s e
os bra�os sempre em movimento, falando de ondas, de quando
t�nhamos sido enrolados ou atirados, de tudo, enfim. E esqueci-me
das urg�ncias.
o surf n�o � um desporto muito soci�vel, curiosamente, excepto
quando se sai da �gua e se fala sobre ele. Na prancha, quase n�o
falamos. Faz-se parte de um grupo de pessoas unidas apenas pelo
mar, mas esquecemo-nos dos outros, a n�o ser para amaldi�oarmos
quem cai na nossa onda. Cada onda que conseguimos apanhar �
nossa, mesmo que n�o se v� sozinho. Vai-se sempre com algu�m,
mas n�o se conversa.
Chamaram-me ao telefone e tive de terminar a conversa com Joe;
come�ava a haver mais movimento nas urg�ncias. Quando cheguei,
j� n�o era um lugar calmo. Durante o meu retiro de trinta minutos
tinham chegado mais beb�s, a chorar e com as suas queixas
habituais. Uma rapariga adolescente queixava-se de c�ibras.
Perguntei-lhe se se tinha sentido melhor depois de tomar aspirina.
Ainda n�o tinha experimentado tomar coisa alguma. Mais uma cura
milagrosa, digna dos quatro anos passados na escola m�dica. E as
constipa��es. Havia v�rias pessoas com as velhas variedades de
constipa��o: rinites, gargantas irritadas, tosse, o costume. A raz�o
por que se dirigiam �s urg�ncias ultrapassava a minha
compreens�o. Apesar de me ter distra�do bastante depois do jantar,
havia-me passado despercebido qualquer aspecto humor�stico da
situa��o. Tinha gente � espera para ser suturada e tinha que
observar aqueles constipados.
Um dos trabalhos de sutura foi um pouco invulgar. Tratava-se de
uma senhora que havia cortado uma parte do dedo indicador com
um canivete. Tinha sido suficientemente inteligente para guardar o
peda�o e, depois de o ter ensopado por alguns minutos, cosi-o com
uma linha de seda muito fina. Fizera tudo isso enquanto o m�dico
particular me dava instru��es expl�citas pelo telefone. Quase
estava � espera de que ele aparecesse e fizesse o trabalho.
130
Numa das salas encontrava-se um homem que se queixava de
dores nas costas e incapacidade de reter a urina. o �ltimo sintoma
era bastante �bvio, a avaliar pelo cheiro da sala, que se tornou
quase insuport�vel � medida que eu o ia examinando por partes,
indo, de vez em quando, at� ao corredor, para poder respirar um
pouco de ar fresco. Continuava a n�o aguentar os maus cheiros.
Pensei que talvez fosse boa ideia intern�-lo no hospital, uma vez
que tinha uma infec��o no tracto urin�rio, e n�o podia, obviamente,
cuidar de si pr�prio. Contudo, o m�dico que chamei j� o conhecia e
n�o o queria como paciente. Disse-me que procurasse outro m�dico.
Ao que parece, o velhote era um p�ssimo doente, famoso pelas suas
desapari��es do hospital sem ter tido alta e aparecendo sempre
nos fins-de-semana ou a meio da noite. Falei com outro m�dico que
tamb�m o recusou, e que sugeriu um outro. Finalmente, depois de
ter contactado cinco m�dicos, houve um que concordou em tratar
dele, mas, j� depois de as enfermeiras o terem preparado para ser
admitido, descobriu-se que era um veterano. Todos os meus
esfor�os haviam sido em v�o; agora ter�amos de o mandar para um
hospital militar.
Quando ia entrar de novo no hospital paraver outro paciente,
quase choquei com uma jovem de cerca de 20 anos, que agarrava
um caniche, enquanto um homem n�o muito mais velho que ela a
puxava. Gritava que n�o queria falar com m�dico algum. N�o via
nisso qualquer obst�culo; continuei a dirigir-me para a sala do
paciente, mas teria de acabar por aver, de qualquer modo, e,
quando a observei, praticamente n�o falou. Teria sido mais f�cil
estabelecer comunica��o com o c�o, que ela ainda trazia ao colo.
Decidi deix�-la, o que foi um erro, porque minutos depois saiu e
desapareceu. Estava demasiado ocupado para dar por isso at� que
o psiquiatra da fam�lia apareceu com os pais dela. Parece que do
hospital tinham chamado a pol�cia, porque a rapariga andava l� fora
a arrancar flores. Fiquei um pouco surpreendido ao ver o psiquiatra -
tinha sempre imensa dificuldade em conseguir que viessem ao
hospital nos s�bados � tarde e a partir das quatro horas. Podia
sempre contar com dois ou tr�s pacientes do foro psiqui�trico ao
131
s�bado � noite, na pior altura para eles. Uma vez que raramente
conseguia apanhar um psiquiatra, fazia o que podia por os p�r mais
� vontade; mas um calmante leve e palavras am�veis n�o lhes
resolviam os problemas.
- Doutor, tem uma chamada no 84 - disse uma enfermeira.
Atendi-a no telefone da Sala B, marcando o 84.
- Peters, daqui fala Sterling. Consegui finalmente falar com o Dr.
Andrews, que trata este m�s da ortopedia, e ele acha que um
aparelho de suspens�o deve servir para Morris. - Sterling era o
ortoped�sta residente.
Houve uma pausa. Comecei a desenhar c�rculos interligados no
bloco que estava ao lado do telefone. o raio do Sterling n�o tinha a
m�nima inten��o de vir c� abaixo aplicar o tal aparelho de
suspens�o, ou l� o que era.
- Por que n�o tenta p�-lo, Peters? E se tiver algum problema
avise-me, est� bem?
- Tenho ainda oito doentes para ver.
- Bom, se ele tiver que esperar muito, chame-me.
- Sterling, pelo amor de Deus, ele est� aqui desde as dez da
manh�. N�o acha que j� � muito? H� nove horas?
- Ah, est� bem. D�-lhe uma hip�tese de ficar s�brio.
Discutir com Sterling exigia mais esfor�o mental do que eu
desejava, e, al�m disso, ia contra a minha nova determina��o de
n�o me aborrecer, de manter uma certa dist�ncia.
- Est� bem. Vou tratar disso logo que puder. - Desliguei o
telefone, analisando mentalmente a pr�xima meia hora.
- Enfermeira, mande aquecer um pouco de �gua e arranje-me
gesso, e tenha tudo pronto na ortopedia.
- Que tipo de gesso, Doutor?
- De duas e tr�s polegadas, quatro rolos de cada.
Pus o meu ar mais descontra�do e fui dar uma volta pela sala
dos m�dicos, procurando nas estantes um livro sobre ortopedia.
Encontrei um, gra�as a Deus, e folheei-o, � procura do �ndice. L�
estava: gesso, suspens�o, ver p. 138, o que fiz. Tratava
132
precisamente de fracturas do h�mero, mesmo o que eu queria.
Apesar da minha apreens�o por ter que tratar de um caso estranho
para mim, fiquei impressionado com a simplicidade do trabalho, que
fazia, de facto, uma esp�cie de trac��o. Em vez de se p�r o gesso
em volta do bra�o e do ombro do paciente, aplicava-se apenas na
�rea um pouco acima do cotovelo, e o peso puxaria o osso
fracturado para baixo, facilitando o alinhamento. o bra�o era ent�o
preso ao corpo por uma atadura enrolada em volta do peito;
mantinha, deste modo, o bra�o im�vel, mas deixava o ombro livre
para efectuar movimentos. Era extraordin�rio.
Apareceu uma enfermeira.
- Doutor, h� nove pacientes � espera. - Sabia que seria avisado
pelas enfermeiras se houvesse uma verdadeira emerg�ncia; era a
altura prop�cia para me livrar de Morris de uma vez por todas.
Depois de colocar o livro no lugar, dirigi-me para a sala de
ortopedia, sentindo-me mais preparado para aplicar o gesso. Assim
que entrei na sala, tornou-se �bvia a raz�o por que nos
esquec�ramos dele. Estava deitado na marquesa, adormecido,
ressonando ligeiramente, e mantinha-se sobre ela gra�as a uma
correia de couro que o prendia. Nem sequer acordou, quando o
sentei, segurando-lhe na cabe�a. Maldito Sterling; estava a fazer o
trabalho dele. Enquanto fal�vamos ao telefone, podia ouvir o som
da sua televis�o. Depois de ter cortado a manga esquerda, arranjei
um pouco de estoquinete para a parte de dentro do gesso e
apliquei-a no bra�o, tentando n�o deslocar a fractura.
- Doutor, tem uma chamada no 83. - N�o respondi, esperando
que o caso se resolvesse por si.
- Ohhhh... - Morris acordou, assim que lhe posicionei o bra�o
para a aplica��o do gesso. - Que � que est� a fazer?
- Mr. Morris, o senhor partiu o bra�o quando caiu da escada, e
eu estou a p�r-lhe gesso.
- Mas eu n�o...
- Ai isso � que partiu! E agora, cale-se. - Espero que Sterling me
pe�a um favor, um dia. Depois de ensopar os rolos de gesso na
�gua at� as bolhas de ar pararem, enrolei-o � volta do bra�o de
133
Morris, fazendo camadas. Fi-lo bastante espesso, com cerca de cinco
cent�metros. Uma vez que a terapia se deveria ao peso, aquela iria
ser �ptima.
- Fique quieto agora, Mr. Morris. N�o se mexa. Deixe-o secar.
Dirigindo-me � zona principal das urg�ncias, atendi o 83, mas j�
haviam desligado. Era uma boa estrat�gia. Ainda eram sete e meia
e j� tinha onze pacientes em atraso, e sabia que as coisas iriam
piorar. Peguei numa m�o cheia de fichas e comecei pela primeira,
cuja queixa era "Erup��o cut�nea".
Os problemas cut�neos causam-me um vazio na mente, por mais
que leia e releia as descri��es das erup��es vesiculares prur�ticas
papulo-escamosas e eritematosas. As palavras perdiam todo o
sentido e retorciam-se na minha mem�ria, de modo que, quando via
um paciente com algo para al�m de acne ou hera venenosa, estava
perdido. E ali estava, diante de mim, um homem com uma violenta
erup��o eritematosa eczematosa e prur�tica. Eu sabia que era isso
porque um dermatologista tinha usado essas palavras para
descrever a minha queimadura solar depois de uma semana de
P�scoa passada em Miami, quando andava na escola m�dica. Isso
queria dizer que fazia comich�o, estava h�mida e vermelha, mas os
cientistas preferiam um complicado cal�o cient�fico. De facto, a
dermatologia � o �nico ramo da Medicina que ainda usa o latim em
grande extens�o - apropriado, de certo modo, visto que n�o me
parecia que a ci�ncia tivesse avan�ado muito desde os tempos da
alquimia. Embora a terminologia e o diagn�stico das doen�as de
pele fossem dif�ceis, o tratamento era a pr�pria simplicidade. Se a
les�o estivesse h�mida, usava-se um agente secante; se a les�o
estivesse seca, era preciso conserv�-la h�mida. Se o paciente
melhorasse, continuava-se com o mesmo tratamento; caso contr�rio,
tentava-se outra coisa, ad infinitum.
o paciente que se encontrava diante de mim era um homem
magro, de rosto terroso, com cabelos escuros, fartos e
despenteados. Ao olhar para as suas m�os e para os seus bra�os, a
�nica coisa que via era que percebia muito pouco de dermatologia.
134
Ele n�o tinha um m�dico particular, o que queria dizer que eu teria
de chamar um, e perguntava a mim mesmo o que iria dizer-lhe, sem
parecer um idiota chapado.
Reparei que a erup��o atingia tamb�m as palmas das m�os e
alguns sinos distantes come�aram a soar na minha mente. Apenas
algumas desordens dermatol�gicas aparecem nas palmas das m�os.
A s�filis � uma delas. Hummm. Estava t�o envolvido nos meus
pensamentos que mal ouvi o paciente dizer que sofria de
neurodermatite e precisava de mais tranquilizantes. Estava ainda a
tentar recordar-me da lista exacta das doen�as que aparecem nas
palmas das m�os, quando as palavras penetraram subitamente no
meu consciente. Neurodermatite. Com a pr�tica, tinha desenvolvido
uma certa habilidade para n�o mostrar surpresa ou gratid�o quando
me eram feitas estas s�bitas d�divas de diagn�stico, e continuei a
observar-lhe os bra�os, com o ar de quem percebe do assunto, at�
ter passado tempo suficiente. Tive a sensa��o de que os meus
conhecimentos de dermatologia se igualavam aos dele quando
adivinhei, correctamente, que ele estava a tomar Librium. Ficou-me
grato por lhe receitar mais.
� medida que a tarde se ia estendendo para a noite, os meus
passos foram-se tornando mais dif�ceis e mais lentos, e os meus
receios aumentaram, fazendo surgir, na minha imagina��o, uma
s�rie de casos complicados que me esperavam. N�o houve uma
pausa na torrente cont�nua de pacientes, deixando-me sempre com
cinco ou seis pessoas em atraso. As minhas suturas tornaram-se
mais r�pidas, por uma quest�o de necessidade e de redu��o do
meu interesse. Sempre que eu estava a fazer suturas, as pessoas
que esperavam iam-se amontoando, de modo que eu tinha que ser
r�pido, desistindo de aparar os rebordos e outras coisas mais
complicadas. N�o trabalhava ao acaso, era apenas menos
cuidadoso e talvez mais facilmente satisfeito com os resultados.
Como sucedeu, por exemplo, com o homem que tinha uma lacera��o
no bra�o com separa��o de um rebordo. Durante o dia, eu teria
provavelmente extra�do o rebordo e fechado a ferida como um corte
linear. Mas naquela altura limitei-me a cos�-lo, com o rebordo e
135
tudo, esperando que tudo corresse pelo melhor.
Na sala de otorrinologia encontrava-se um rapazinho de 4 anos
sentado na marquesa, com um ar triste. Perto encontrava-se o av�.
Quando entrei, a crian�a come�ou a choramingar, estendendo os
bra�os para o av� que lhe pegou enquanto eu lia a ficha. Dizia
"Corpo estranho, ouvido direito". Depois de conversar calmamente
com o rapazinho durante alguns minutos, convenci-o a deixar-me
observar o ouvido. Ao fundo do canal, vi qualquer coisa preta;
parecia-me uma uva ou uma pedrinha.
Dado que o av� n�o conhecia otorrinolaringologista algum,
escolhi um da lista de m�dicos, um Dr. Cushing, e telefonei-lhe.
- Dr. Cushing, fala o Dr. Peters das Urg�ncias. Tenho aqui um
rapazinho de 4 anos com um corpo estranho no ouvido.
- Qual � o apelido dele, Peters?
- Williams. o pai chama-se Harold Williams.
- Eles t�m seguro de sa�de?
- N�o fa�o a m�nima ideia.
- Ent�o pergunte-lhes, meu rapaz.
Que cena, pensei eu, dirigindo-me � sala de otorrinologia. Com
uma d�zia de pessoas � espera, tinha de ir saber de um seguro de
sa�de. N�o, disse o av�, n�o tinham seguro.
- N�o, n�o t�m seguro, Dr. Cushing.
- Ent�o veja se algum dos adultos est� empregado.
Tive de voltar � sala de otorrinologia para interrogar o av�. Na
verdade sabia que era mais f�cil obter estas informa��es do que
telefonar a uma d�zia de m�dicos at� encontrar um que n�o
estivesse t�o preocupado com a ideia de n�o lhe pagarem; mas
aquilo parecia-me grosseiro e desumano, de qualquer forma.
- Ambos os pais est�o empregados, Dr. Cushing.
- �ptimo. E agora, qual � o problema?
- O pequeno David Williams tem um corpo estranho no ouvido,
uma coisa preta.
- Pode extra�-la, Peters?
- Penso que sim. Posso tentar.
136
- �ptimo. Mande-os ao meu consult�rio na segunda-feira e
telefone-me outra vez se tiver algum problema.
- Oh, Dr. Cushing.
- Diga.
- Tive aqui esta manh� uma menina com infec��es em ambos os
ouvidos m�dios. - A crian�a da manh� tinha-me voltado � mente, de
s�bito. - Um dos t�mpanos estava perfurado e o outro inchado.
Deveria t�-la purgado?
- Sim, provavelmente.
- Como � que isso se faz?
- Usa-se um instrumento especial chamado faca de miringotomia.
Faz-se uma min�scula incis�o na parte inferior posterior do t�mpano.
� muito simples e o paciente fica logo aliviado.
- Obrigado, Dr. Cushing.
- De nada, Peters.
De nada, digo eu, Dr. Cushing. Depois de todas aquelas idas e
vindas, tinha de tentar retirar eu pr�prio o objecto preto. Quanto �
incis�o no t�mpano, decidi considerar-me instru�do sobre o processo.
De regresso � sala de otorrinologia, imobilizei a crian�a e tentei
retirar o objecto preto. Partiu-se quando puxei o forceps e, quando
observei o que sa�ra, nem queria acreditar no que os meus olhos
viam. Era a pata traseira de uma barata. o rapazinho solu�ava
enquanto eu ia retirando a barata, peda�o a peda�o, cheio de pena
da crian�a e ansioso por acabar com aquilo, quase a vomitar de
repugn�ncia. Os �ltimos peda�os sa�ram com uma boa irriga��o. o
choro da crian�a foi diminuindo gradualmente e pincelei o ouvido
com desinfectante. Parecia estar tudo bem, mas eu sentia-me um
pouco agoniado.
Durante a parte final deste processo, uma enfermeira tinha
estado atr�s de mim a fazer-me sinais. Informou-me ent�o, num tom
um pouco g�lido, que Morris continuava � espera na sala de
ortopedia. Por vezes aquelas enfermeiras aborreciam-me
mortalmente, especialmente de noite. Senti-me, no entanto, um
pouco culpado em rela��o a Morris, porque ele j� estava entre n�s
137
havia quase doze horas, e suponho que a sensa��o de culpa
aumentou a minha animosidade para com a enfermeira.
Profundamente adormecido, Morris estava-se nas tintas. o gesso
estava completamente seco. Infelizmente tive de o acordar para lhe
ligar o gesso ao corpo com uma ligadura Ace, e, ao faz�-lo, tive de
sujeitar-me a mais alguns insultos, que me pareceram n�o estar �
altura da m�dia habitual de Morris. o que mais me preocupava era
verificar se Morris podia ou n�o mover o ombro, com o bra�o
esquerdo assim ligado ao corpo. Mas estava a seguir as instru��es
do comp�ndio, e a cl�nica resolveria o problema na segunda-feira,
se houvesse alguma coisa errada. Voltando � sala principal das
Urg�ncias, disse � enfermeira nervosa que Morris podia ir para casa,
;e ela arranjasse tempo, entre as pausas para o caf�, para lhe dar
uma njec��o antitet�nica.
Por volta das dez horas, a casa estava a abarrotar, cheia de
todas as doen�as poss�veis. Com o aumento da clientela, eu tinhame
atrasado um pouco, talvez numa d�zia de fichas. Silenciosamente
de p� no meio da sala de espera principal encontrava-se uma mulher
que queria que eu examinasse uma pequena perfura��o no nariz,
provocada havia cerca de oito horas por uma tesoura de podar. o
seu nome era Joseplis. N�o sei por que motivo Mrs. Josephs estava
havia tanto tempo � espera, mas o seu m�dico tinha-a mandado �s
Urg�ncias para receber uma injec��o contra o t�tano. Era uma coisa
segura. Todavia, o tox�ide do t�tano s� ajuda o corpo a construir
imunidade; al�m disso, actua lentamente. Pareceu-me sensato
complementar a injec��o antit�tano com um anticorpo para
protec��o tempor�ria, especialmente numa ferida j� com oito horas.
T�nhamos acabado de receber uma nova remessa de um soro de
anticorpos humanos muito bom, chamado Hypertet, mas eu n�o
podia d�-lo a Mrs. Josephs sem primeiro telefonar ao seu m�dico,
um tal Dr. Sung, que era muito conhecido pela sua l�ngua afiada e
medicina antiquada. Marquei o n�mero dele com preocupa��o.
- Dr. Sung, fala o Dr. Peters das Urg�ncias. Tenho aqui Mrs.
Josephs, e vou dar-lhe a injec��o antitet�nica, mas acho que ela
deveria tomar qualquer coisa que a aguentasse at� a injec��o fazer
138
efeito.
- Sim, tem raz�o, Peters. D�-lhe uma dose de antitoxina de
cavalo, fa�a isso depressa, se faz favor. N�o quero que ela espere.
- Temos aqui uma globulina humana de imuniza��o contra o
t�tano, muito boa, chamada Hypertet, Dr. Sung. N�o seria melhor
que soro de cavalo? � muito mais r�pida e al�m disso...
- N�o discuta comigo, Peters. o senhor n�o sabe tudo. Se eu
quisesse o Hypertet, tinha-o pedido.
- Mas, Dr, Sung, se eu usar soro de cavalo, h� uma hip�tese de
alergia, e terei de lhe fazer um teste cut�neo. Tudo isso leva tempo.
- Ent�o, para que diabo lhe pagam? Despache-se com isso.
Ouvi o som agudo do telefone ao desligar-se. Bom, que se
lixasse.
O velho Dr. Sung praticava uma m� medicina e um dia havia de
se dar mal.
Para que havia eu de afligir-me? Era uma pena o Hypertet, no
entanto, t�o bem embalado e pronto para a injec��o. Apostava dez
contra um em como o desgra�ado nunca tinha ouvido falar dele. �
para isso que nos pagam, pensei, elaborando sombriamente uma
longa s�rie de instru��es para testes de sensibilidade, na parte
lateral da garrafa de soro de cavalo, enquanto quinze pessoas
aguardavam l� fora.
Mas n�o fui muito longe com o soro de cavalo. Uma sirene, �
dist�ncia, trouxe-me de novo o antigo receio. Para meu horror e
incredulidade, tr�s ambul�ncias pararam simultaneamente diante do
hospital e os ajudantes saltaram e come�aram a descarregar
peda�os de pessoas, todas v�timas do mesmo acidente de via��o,
colocando-os nas salas onde outras pessoasj� estavam � espera.
Um corpo esmagado j� teria sido aterrorizador; cinco eram um
espect�culo simplesmente esmagador. Enquanto as enfermeiras
ligavam para cima, a pedir ajuda ao pessoal da casa, tentei fazer
qualquer coisa, fosse o que fosse, antes que a situa��o me
imobilizasse. Um dos pacientes era um rapaz com um lado da cabe�a
esmagado. A sua respira��o era extremamente estertorosa; por
139
vezes cessava completamente, sendo retomada segundos depois.
Comecei a preparar uma IV, de que o rapaz, provavelmente, n�o
necessitaria de imediato. Mas havia de vir a precisar dela, e
mantive-me ocupado a prepar�-la e a extrair algum sangue para ver
qual era o tipo e fazer compara��es. Seguiu-se a inser��o de um
tubo endotraqueal, uma decis�o autom�tica. Normalmente era um
processo em que eu tinha dificuldades, mas desta vez foi f�cil,
porque o maxilar inferior estava t�o partido que foi poss�vel afast�lo.
Depois de lhe fazer a suc��o da boca e da garganta, retirando
peda�os de osso e bastante sangue, introduzi o tubo para que ele
pudesse respirar. Surpreendentemente, a press�o sangu�nea estava
normal. Gostaria de ficar junto do rapaz, embora nada mais pudesse
fazer por ele, de momento, mas os outros pacientes gritavam por
ajuda - e, de qualquer forma, j� vinha a caminho um neurocirurgi�o.
Mais tarde vim a saber que o rapaz tinha morrido cinco minutos
depois da opera��o. A ideia incomodou-me durante algum tempo,
at� que raciocinei que ele j� se encontrava praticamente morto
quando chegara �s minhas m�os.
Agora, ao fim de todos estes meses, tinha-se tornado mais f�cil
n�o me deixar prender emocionalmente por um determinado caso.
Outros problemas me esperavam, exigindo a minha aten��o. A
senhora do quarto do lado, - por exemplo - tamb�m estava em
estado grave. Uma enorme �rea de pele e cabelo, que ia desde a
orelha esquerda at� ao cimo da cabe�a, podia ser afastada,
deixando ver uma rede de fracturas cranianas m�ltiplas, como um
ovo cozido rachado, pronto a ser descascado. A pupila do olho
esquerdo estava largamente dilatada. Por onde principiar? Enquanto
eu olhava para o cr�nio, ela vomitou subitamente uns cinquenta
centilitros de sangue, que saltou da mesa para cima das minhas
cal�as e dos meus sapatos. Dei gra�as a Deus pela IV, que dava
certa orienta��o aos meus pensamentos ca�ticos. Apressei-me a
prepar�-la, enviando ao mesmo tempo uma amostra de sangue para
verifica��o do tipo e compara��o, a fim de se conseguir sangue para
a transfus�o. Como ela tinha vomitado sangue, pensei que ir�amos
140
precisar de oito unidades, em vez das quatro habituais, embora a
sua press�o sangu�nea fosse invulgarmente forte. A quest�o de uma
press�o sangu�nea aceit�vel, mesmo normal, perante uma n�tida
falha corporal tinha come�ado a preocupar-me. Todos os livros
citavam a press�o sangu�nea como um primeiro e seguro indicativo
da fun��o sist�mica geral, mas a maior parte das minhas
experi�ncias pareciam contrariar essa regra. De qualquer forma,
apalpei o abd�men da mulher, tentando descobrir de onde poderia
ter vindo todo aquele sangue.
Nessa altura, uma enfermeira chamou-me urgentemente a outro
quarto, onde um homem estava a respirar com dificuldade, e, achava
ela, convulsivamente. Aparentemente atingido no est�mago, era um
dos condutores, imaginei eu. A enfermeira entregou-me amobarbital
para deter as convuls�es, mas, antes que lho desse, apercebi-me
de que, em vez de convuls�es, ele estava a sofrer das chamadas
�nsias, v�mitos em seco. Conseguiu vomitar um pouco, n�o sangue,
mas um �lcool de cheiro azedo, que conseguiu ir tamb�m parar aos
meus sapatos. Quando o Dr. Sung me telefonou, no meio de toda
esta afli��o, para saber se eu j� tinha dado o soro de cavalo, sentime
tentado a descarregar sobre ele, mas limitei-me a dizer que n�o,
que est�vamos ocupados.
No mesmo acidente tinha estado envolvido um motociclista.
Encontrava-se praticamente esfolado vivo. Tinha abras�es por todo
o corpo, excepto na cabe�a. Era um dos poucos que usavam
capacete. Cada fim-de-semana tinha a sua quota de motociclistas
mortos. o mais horr�vel era aparecerem em bocados - casos t�o
graves, na verdade, que j� corria uma piada no hospital acerca do
motociclista que tinha chegado ao hospital em v�rias ambul�ncias.
No caso deste, equimoses no corpo todo, fracturas e abras�es eram
a melhor descri��o. Se pudessem falar, aqueles fulanos insistiriam
veementemente em que uma motocicleta n�o era muito perigosa,
porque se ficava livre quando havia um acidente. Mas ser cuspido a
noventa e tal quil�metros por hora, em cima de cimento, sobre a
cabe�a, e depois ser atropelado, n�o nos deixava muito que fazer.
Este n�o se encontrava apenas coberto de abras�es; a perna
141
esquerda estava tamb�m esmagada. Os dois ossos sa�am, num
�ngulo de quarenta e cinco graus, e o p� estava preso apenas por
alguns fios de tend�es. As cal�as, as meias, peda�os do t�nis e
asfalto haviam sido esmagados dentro da ferida.
Surpreendentemente, estava consciente, embora um pouco
confuso.
- Sente dores?
- N�o, n�o sinto dores. Mas tenho qualquer coisa no olho
direito.
- Santo Deus, naquele estado e preocupado por causa de um
pouco de cinza no olho. Limpei-o. A press�o sangu�nea estava
normal, o pulso um pouco elevado, a 120. Comecei a preparar uma
IV e enviei uma amostra de sangue para cima, pedindo
arbitrariamente cinco unidades de sangue dispon�veis.
Aparentemente, ele n�o precisava de sangue de momento, mas era
�bvio que teria de ser sujeito a cirurgia �ssea. Com um hemost�tico,
tentei deter um pouco do sangue que escorria dos m�sculos da
perna, que estavam � vista. Espantou-me v�-lo sangrar t�o pouco.
Voltei para junto da senhora que tinha vomitado sangue e fiquei
aliviado por constatar que a sua press�o sangu�nea se estava a
aguentar. Talvez ela tivesse apenas engolido todo aquele sangue;
afinal, estava a sangrar de ambas as narinas. Tinham-se passado
vinte minutos desde a chegada das ambul�ncias e j� ali se
encontravam outros membros do pessoal m�dico, ajudando a
estabilizar os pacientes. Mandei vir o aparelho de raios-X e fiz
algumas chapas de cabe�as, t�raxes e alguns ossos. N�o h�
palavras que possam descrever a confus�o que ali se verificava. Era
o caos total, com gripes e diarreias e beb�s e asm�ticos misturados
com ossos partidos e cabe�as esmagadas. E as coisas n�o
melhoraram muito quando os assistentes chegaram e come�aram a
ditar ordens para todos os lados. o bloco operat�rio, j� alertado,
come�ou finalmente a absorver os pacientes do acidente de via��o.
o Dr. Sung voltou a telefonar, amea�ando apresentar queixa ao
hospital se eu n�o tratasse imediatamente do soro de cavalo.
142
Naquela altura estava-me nas tintas para o soro de cavalo, de modo
que lhe desliguei o telefone. Isto fez que ele aparecesse por l�,
furioso, cerca de vinte minutos depois, pronto a insultar-me,
precisamente na altura em que transport�vamos para a sala de
opera��es o �ltimo dos pacientes em estado grave. Fiquei ali, de
p�, coberto de uma mistura de sangue e de v�mito, ouvindo
vagamente a sua perora��o. Aquele tarado era capaz de me meter
em sarilhos, de modo que nada mais disse, excepto para me referir
novamente ao Hypertet, explicando como teria sido muito mais
r�pido. Isto ainda o fez ficar mais furioso, e foi-se embora, levando
consigo o seu paciente. � evidente que apareceu uma reprimenda
por escrito na minha caixa, alguns dias depois. V�o-se l� escolher as
prioridades!
Por volta das onze horas, o ciclone j� tinha passado, deixando a
habitual esteira de pacientes com queixas menores, num n�mero
bastante maior que o habitual, por causa do que se tinha passado
antes. Havia-os por toda a parte - no interior, no exterior, sentados
na plataforma da ambul�ncia, no ch�o, nas cadeiras. Comecei a
andar de uma sala para outra, mal escutando o que me diziam,
actuando como uma m�quina fatigada. Um homem tinha ca�do junto
da piscina, durante uma festa, partindo o nariz na prancha, ao cair,
e cortando o polegar num copo de gim com �gua t�nica. o nariz
estava direito, de modo que o deixei ficar. Suturei rapidamente a
lacera��o, depois de ter contado a triste hist�ria ao seu m�dico
particular. Ele tamb�m parecia b�bado.
Era, na verdade, a grande noite dos b�bados; na sua maior
parte sofriam de pequenos cortes e equimoses, ou de ressacas
prematuras, com n�useas e v�mitos. E as crian�as ainda
continuavam a aparecer, muito depois da hora de deitar, com as
suas diarreias e narizes a escorrer e as suas febres. Apareceu-me um
com uma temperatura de cerca de 40 graus, mas eu n�o conseguia
encontrar-lhe algo errado. Isto incomodou-me bastante. Como ser
humano, sente-se uma vontade irresist�vel de tratar; � isso que se
espera de n�s. Os pais clamam quase invariavelmente por
143
penicilina, mas eu tinha o bom senso suficiente para n�o a receitar,
na maior parte dos casos. Tratar um sintoma como a febre sem um
diagn�stico seguro � m� medicina; e, no entanto, eu apenas fazia
uma observa��o bastante limitada dos ouvidos ou das gargantas
daqueles pequenos berradores. Algumas vezes tratava-os, outras
vezes n�o; actuava sempre com base em suposi��es mal
fundamentadas.
Era um s�bado � noite t�pico nas Urg�ncias. A multid�o come�ou
a rarear por volta da 1 hora da manh�. A partir daquele momento
come�ar�amos a ver menos daquelas coisas que afastavam as
pessoas ios seus aparelhos de televis�o durante a noite, para
procurar a santidade do banco do hospital - coisas como gripes,
diarreia e ferimentos menores. Dentro de cerca de uma hora
come�ariam a aparecer os problemas que as impediam de dormir.
Os mesmos problemas que tinham ignorado durante todo o dia e no
princ�pio da noite impedi-los-iam, naturalmente, de dormir,
obrigando-os a aparecer, a meio da noite, perante o astuto e
compreensivo interno. Como pruridos nas coxas. Numa outra noite de
servi�o, tinha adormecido por volta das 5 da manh� e sido acordado
porque um doente tinha pruridos nas coxas.
Pouco depois da uma hora, parou � porta uma ambul�ncia sem
s�rene e os tripulantes descarregaram uma rapariga de aspecto
tranquilo, com vinte e poucos anos, que estava mergulhada num
sono profundo, pr�ximo do coma. Ingest�o de comprimidos. o
habitual, como constatei: doze aspirinas, dois Seconal, tr�s Librium
e uma m�o cheia de comprimidos de vitaminas. Todos aqueles
medicamentos, com excep��o, talvez, das vitaminas, podiam ser
perigosos - especialmente o Seconal, um sopor�fero - mas era
preciso tomar muitos para o caso ser realmente grave. Caso
contr�rio, era apenas um gesto, um infantil pedido de aten��o
dentro do tecido social da vida do indiv�duo; o caso habitual de
ingest�o de comprimidos � o da jovem perdida no mundo irreal da
revista Romances da Vida. Por vezes interessava-me e sentia uma
certa simpatia, mas n�o no estado em que me encontrava; sentiame
t�o cansado que qualquer sentimento de empatia se tinha
144
dissolvido, havia muito tempo, em irrita��o. Como � que aquela
rapariga est�pida tinha podido fazer o seu n�mero �quela hora da
madrugada num s�bado � noite? Por que n�o poderia dar o seu
pequeno espect�culo numa ter�a-feira de manh�?
Como sempre acontece, v�rios membros da fam�lia e alguns
amigos chegaram pouco depois da ambul�ncia. Ficaram na sala de
espera, a conversar e a fumar nervosamente. Olhei para a rapariga
que dormia sobre a mesa. Depois, agarrei-a pelo queixo com uma
m�o, sacudi-lhe a cabe�a e chamei-a pelo seu primeiro nome, Carol.
Os olhos abriram-se lentamente, de modo que se visse apenas
metade das pupilas, e choramingou "Tommy".
"Tommy, uma merda." A irrita��o transformou-se em ira, quando
a minha exaust�o e a minha hostilidade sentiram necessidade de se
expressar. Pedi um pouco de ipecacuanha � enfermeira e decidi
fazer-lhe uma lavagem ao est�mago. Era um processo dif�cil tanto
para mim como para ela, mas eu queria que ela n�o se esquecesse
mais das Urg�ncias. Al�m disso, sabia que, quando telefonasse ao
seu m�dico particular, ele me perguntaria o que eu tinha extra�do do
est�mago da rapariga.
Um tubo g�strico tem cerca de um cent�metro e meio de
di�metro.
Depois de subir a maca para ela ficar sentada, enfiei-lhe um
pela garganta, atrav�s da narina esquerda. Os seus olhos abriramse
subitamente, por completo, enquanto vomitava e lutava para se
libertar das enfermeiras que a agarravam. Vomitou um pouco em
volta do tubo, enquanto eu o introduzia at� ao est�mago, e, em
seguida, todo o conte�do do est�mago foi expulso, incluindo um
Seconal ainda n�o dissolvido e uma por��o de uma das c�psulas
deLibrium. Quando retirei o tubo, veio com ele o que ainda restava.
Alguns minutos depois, a ipecacuanha come�ou a fazer efeito,
obrigando-a a vomitar repetidas vezes, apesar dej� ter o est�mago
vazio. Por essa altura, j� Tominy se tinha ido juntar aos outros na
sala de espera. Talvez ele tamb�m quisesse um pouco de
ipecacuanha, de modo a poder desempenhar um papel completo
145
naquele acontecimento melodram�tico.
Depois de mandar para cima uma amostra de sangue, para ver
se a aspirina tinha alterado a acidez do sangue, e de concluir que
n�o tinha, telefonei ao m�dico de Carol. Disse-lhe o que ela tinha
tomado e que, � parte o facto de estar sonolenta, estava bem
naquele momento, devidamente tranquilizada.
- Que � que lhe extraiu, quando fez a lavagem?
- Um Seconal, peda�os de Librium e pouco mais.
- �ptimo, Peters, bom trabalho. Mande-a para casa e diga ao
pai que me telefone na segunda-feira.
Pouco depois, Carol foi levada para casa, em toda a sua gl�ria,
coberta de v�mito. Nunca pus em quest�o a minha dura atitude para
com ela, ao fim de dezoito horas nas Urg�ncias, e, embora n�o me
sinta orgulhoso dela, as coisas passaram-se assim mesmo.
Por volta da meia-noite entrou um novo turno de enfermeiras.
Quando chegaram as duas horas, eu, estava praticamente a cair,
mas as novas enfermeiras eram um grupo en�rgico e animado,
revelando uma not�vel agilidade e alegria para aquela hora da
noite. o contraste fez-me sentir ainda pior, como uma sombra. E a
paciente seguinte n�o veio ajudar muito. A sua ficha dizia
"Deprimida, dificuldades respirat�rias".
Quando entrei no quarto, o meu desalento foi imediatamente
confirmado pela vis�o de uma senhora de quarenta e bastantes
anos, que vestia um neglig� azul-claro. Estava deitada na cama, com
uma m�o a comprimir dramaticamente o peito amplo. Duas outras
senhoras ergueram-se histericamente para nos dizer, a mim e �
enfermeira, que a sua amiga n�o conseguia respirar. Eu conseguia
ver � dist�ncia que a senhora estava a respirar perfeitamente.
Oh, Doutor - gemeu a senhora, pronunciando a palavra com um
profundo sotaque sulista, - Mal consigo respirar. Tem de ajudar-me.
Cheirava a martinis azedos. Uma das amigas hist�ricas
apresentou-me um frasco de rem�dio. Olhei para ele. Seconal.
- Oh, esses comprimidinhos encarnados. Tomei dois. Fiz mal? - A
senhora sulista fitou-me com as p�lpebras a tremelicar; estava a
divertir-se imenso �s duas da madrugada. Senti um forte impulso de
146
a correr a pontap�s no traseiro neur�tico. Mas isso seriauma
aut�ntica bomba, talvez at� um suic�dio para a minha carreira.
Apesar do meu desencanto perante o sistema, ainda n�o tinha
chegado a esse ponto.
- Ouve alguma coisa estranha, Doutor? - Eu estava a esfor�ar-me
por lhe auscultar o peito, que soava perfeitamente normal. - Oh, vai
medir-me a temperatura e a press�o - disse ela alegremente. -
Sinto-me como se fosse desmaiar. N�o consigo compreender o que
est� a passar-se comigo. - Coloquei-lhe no bra�o a manga para
medir a tens�o e enfiei-lhe o term�metro na boca, silenciando-a, por
fim. Aproveitei a oportunidade para me afastar dela por alguns
minutos e telefonei ao m�dico que cobria o hotel onde ela estava
hospedada. Ele disse que lhe desse Librium.
Regressando � presen�a dela, esforcei-me por ser delicado. -
Minha senhora, o m�dico do hotel sugeriu que lhe desse Librium.
- Librium, Doutor? S�o aqueles comprimidinhos verdes e pretos?
Bom, sinto muito, mas sou al�rgica a esses. Fazem-me gases e �s
vezes - disse ela, sentando-se na cama, muito animada -, �s vezes
s�o t�o fortes que as hemorr�idas saem para fora, - Dizendo isto,
lan�ou-se numa extensa conversa sobre os comprimidos que tomava
e os seus terr�veis efeitos sobre o seu tracto gastrointestinal
inferior. A meio do recital, um desempenho digno de Blanche
DuBois, interrompi-a dizendo que talvez a Thorazina cor de laranja
lhe fizesse o mesmo efeito.
- Thorazina cor de laranja! - Quase gritou de prazer. - Esses
nunca tomei! Nem sei como agradecer-lhe, Doutor. Foi t�o simp�tico.
- E l� se foi, conversando alegremente com as amigas sobre as
maravilhas da Medicina.
Apareceu-me ent�o uma das enfermeiras de uma enfermaria
particular, coxeando ligeiramente. Tinha ca�do numa escada,
aparentemente sem efeitos graves, mas gostaria que eu o
confirmasse. Concordei. Chamava-se Karen Christie e a sua anca
parecia perfeitamente normal, mas sugeri-lhe que fizesse uma
radiografia p�lvica, de qualquer forma, para ter a certeza absoluta.
147
Os hospitais s�o compreensivelmente sens�veis a qualquer amea�a
de reclama��es por danos pessoais por parte do pessoal. Quando a
radiografia de Miss Christie apareceu, quinze minutos depois,
coloquei-a sobre o visor iluminado, entre diversos cr�nios e ossos
partidos. Os meus olhos estavam um pouco enevoados, enquanto
percorria o f�mur, o acet�bulo, o �lio, o sacro, etc. Tudo estava
normal. Quase n�o reparei na espiral branca ao centro e, quando
dei por ela, n�o consegui compreender como o t�cnico de raios-X
tinha conseguido introduzir aquele estranho artefacto na imagem.
Depois fez-se luz na minha mente ensonada, ao compreender que
estava a olhar para um dispositivo uterino anticonccepcional, que
teve a dupla utilidade de tornar Miss Christie num caso muito mais
interessante e de animar por uns momentos a minha disposi��o.
Infelizmente o mauhumor regressou com o doente seguinte.
Estava sentado a solu�ar baixinho por se ter ferido no nariz quando
o carro que guiava tinha batido numa boca de inc�ndio. Sem
qualquer encorajamento da minha parte, come�ou a contar-me
loquazmente a hist�ria inteira. Ia a conduzir muito descansado
quando tinha sido engatado por uma l�sbica, que afinal estava t�o
aborrecida com a sua companheira que acabou por fazer que fossem
bater na boca de inc�ndio. N�o lhe perguntei o que tinha
acontecido � l�sbica, dando-me por satisfeito por n�o a ter ali
tamb�m. Pensei sombriamente que aquele era mesmo o remate
perfeito para a noite, sob v�rios aspectos. Atur�-lo era quase
superior �s minhas for�as, no estado de nula compaix�o em que me
encontrava. Eu s� estava preparado para tratar problemas m�dicos
simples - diagn�stico e cura. Aquele tipo necessitava de algo mais.
Recusou-se a qualquer coisa para al�m de ficar ali sentado, a chorar
e a chamar pelo Tio Henry. Quando o Tio Henry chegou, nem mesmo
ele conseguiu persuadi-lo de que uma radiografia n�o matava
ningu�m. Finalmente, depois de o Tio Henry ter prometido ficar
sempre ao seu lado, l� foram os dois para a sala de raios-X. A
chapa revelou um nariz partido, e o m�dico particular dele solicitou,
por telefone, a sua admiss�o no hospital. Pouco depois chegou um
148
pol�cia com a hist�ria verdadeira. Tinha-se tratado de uma simples
cena de pugilato num dos bares locais de homossexuais; a l�sbica
era imagin�ria.
Novamente � dist�ncia, captei o som fatal de uma sirene,
esperando que n�o parasse ali. Mas a ambul�ncia travou no
estacionamento e recuou rapidamente para a plataforma. Eu j� n�o
estava em condi��es para o que se me deparou, os destro�os
humanos de mais um acidente rodovi�rio. As duas raparigas
deitadas nas macas tinham obviamente atravessado o p�ra-brisas.
Estavam cobertas de sangue da cintura para cima, com ligaduras de
primeiros-socorros na cabe�a e na cara.
Depois das raparigas, dois homens sa�ram da ambul�ncia pelo
seu pr�prio p�, mostrando apenas ligeiras escoria��es.
Quando retirei as ligaduras da face de uma das raparigas,
brotou um geyser de sangue que me atingiu no rosto e no peito. Um
caso evidente de hemorragia arterial, pensei, voltando a colocar a
ligadura. Enfiei umas luvas esterilizadas e uma m�scara e depois
arranquei a ligadura de repente, comprimindo imediatamente a
ferida com um peda�o de gaze e passando com ela sobre uma
lacera��o aberta que descia da testa, entre os olhos, quase at� �
boca. Saltavam pequenos jactos de sangue em v�rias direc��es.
Com grande dificuldade, consegui colocar pequenos hemost�ticos
sobre os golpes, mas, antes que conseguisse lig�-los, a rapariga
arrancou-os. Estava embriagada. Durante um minuto, mais ou menos,
trav�mos uma luta cruel e horr�vel, com ela a retirar os hemost�ticos
t�o depressa quanto eu os colocava. Consegui ganhar por uma
quest�o de persist�ncia, ligando finalmente todos os vasos que
sangravam, mas deixando, sem d�vida, trabalho suficiente para
enriquecer um cirurgi�o pl�stico. Entretanto, tinha chegado um
residente que estava a tratar da outra rapariga. Depois descobrimos
que as duas raparigas eram filhas de militares e, uma vez que a sua
situa��o era est�vel - o que queria dizer que n�o morreriam no
decurso da hora seguinte - mand�mo-las para um hospital militar.
Isso deixou-me com os dois homens, que estavam relativamente em
boa forma. Limpei-lhes as abras�es e suturei mecanicamente
149
algumas lacera��es na cabe�a, sem pronunciar uma palavra.
Por volta das tr�s e meia s� restava um paciente para observar,
um beb� de dezasseis meses. Eu j� me arrastava praticamente,
nessa altura, e n�o me recordo bem do caso, exceptuando o facto
de os pais o terem levado ali porque a crian�a n�o andava a comer
bem nas �ltimas semanas. Pensando n�o ter entendido bem, pedilhes
diversas vezes que repetissem.
Entretanto, a crian�a olhava-nos, sorridente e alerta. Com um
pouco de sarcasmo, perguntei-lhes se n�o achavam que se estavam
a comportar de uma maneira um pouco estranha. Estranha porqu�?,
perguntaram eles; estavam preocupados. Invadiu-me uma raiva lenta
enquanto examinava silenciosamente o beb� perfeitamente normal,
e depois dirigi-me ao telefone e telefonei para o m�dico particular
deles, que ficou igualmente irritado por ter sido acordado. Isso
tamb�m era absurdo. o m�dico estava furioso porque o seu paciente
me tinha vindo incomodar �s 3:30 da manh�. Acabei por os entregar
�s enfermeiras, que os mandaram todos para casa. N�o consegui
voltar a falar com eles.
Depois da partida da crian�a, fui para a entrada das Urg�ncias,
olhar para a escurid�o silenciosa. Sent�a-me enjoado e exausto, e
sabia, por cruel experi�ncia, que acordaria muito pior para atender
o inevit�vel paciente seguinte, se dormisse uns quinze ou vinte
minutos apenas. Todas as enfermeiras estavam ocupadas com
pequenas tarefas, excepto uma, que estava a tomar caf�. Senti-me
estranhamente irreal, como se os meus p�s n�o estivessem
firmemente assentes no ch�o, e absolutamente solit�rio. At� o
medo tinha desaparecido, banido pelo cansa�o. Se, naquele
momento, surgisse algum caso grave, apenas me esfor�aria por o
manter vivo at� chegar um m�dico. Bom, de qualquer modo, sempre
seria �til. Evidentemente, continuaria a fazer milagres com os
b�bados e os deprimidos e as crian�as que n�o andavam a comer
muito bem - a minha verdadeira clientela.
Vinha de algures ali pr�ximo, e sempre a aproximar-se, o som da
150
buzina de um Volkswagen, perturbando a enganadora tranquilidade
das Urg�ncias. o som tornava-se cada vez mais alto e come�ou a
recordar-me um personagem dos desenhos animados chamado Papa-
L�guas - uma absurda associa��o, de certo modo adequada ao meu
estado mental. Bip-bip s� podia ser o Papa-L�guas. Trinta segundos
depois, a minha fantasia era substitu�da por um VW que encostou,
ainda a apitar, junte � rampa. Um homem saltou de dentro dele,
gritando que a mulher estava a ter um filho no banco de tr�s. Depois
de pedir a uma enfermeira que me trouxesse o estojo, corri para o
VW e abri a porta lateral. L� estava, realmente, no banco de tr�s,
uma mulher deitada de lado, obviamente nas �ltimas fases do
parto. A luz era fraca, obscurecendo a �rea do parto; tudo teria de
ser feito � base do tacto. Quando ela iniciou uma nova contrac��o,
senti a cabe�a do beb� mesmo no perineu. As cuecas da mulher
estavam no caminho, de modo que as cortei com uma tesoura de
ligaduras, e, enquanto ela gemia devido � contrac��o, conservei a
m�o na cabe�a do beb�, para evitar que ele saltasse. Depois de a
convencer a deitar-se de costas, empurrei os bancos da frente e
consegui fixar uma das pernas dela na janela de tr�s e a outra no
assento do condutor. As minhas m�os moviam-se agora por reflexo,
deixando a mente livre para pensament os absurdos, tais como
recordar uma velha piada - o que � mais dificil que meter uma
elefanta gr�vida num Volkswagen? Engravidar a elefanta dentro do
Volkswagen. Terminada a contrac��o, comecei a puxar lentamente a
cabe�a do beb�, fi-la rodar, puxando-a para baixo para fazer sair um
ombro e depois o outro ombro e, de s�bito, tinha nas m�os uma
massa escorregadia. Quase a deixei cair, ao tentar sair do carro de
costas. Gra�as a Deus, nessa altura o beb� come�ou a chorar. N�o
sabendo o que fazer durante tudo isto, o pai estava a comportar-se
de uma maneira estranha; interrompeu a sua aud�vel ang�stia em
rela��o aos estofos, que, naquele momento, estavam uma aut�ntica
desgra�a, para perguntar se era menino ou menina. No escuro, n�o
soube dizer-lho. N�o deve ser o primeiro filho deste tipo, pensei.
Queria fazer a suc��o da boca do rec�m-nascido com a seringa de
p�ra, mas o beb� estava demasiadamente escorregadio para o
151
segurar s� com uma m�o. Por isso entreguei-o a uma das
enfermeiras, com instru��es expl�citas para o conservar sempre ao
n�vel da m�e, e, depois de aplicar algumas pin�as, cortei o cord�o,
Nessa altura, toda a gente - ajudantes, enfermeiras e o pai -
ajudaram a retirar a m�e do carro. A placenta saiu sem dificuldade
nas Urg�ncias. Fiquei admirado por n�o haver lacera��es. Toda a
gente desapareceu no interior da �rea da obstetr�cia.
O beb� tinha salvo a noite. Talvez lhe dessem o meu nome. o
mais prov�vel era chamarem-lhe V. W.
Quase j� nem me importei de tratar do b�bado imundo que
tinha aparecido durante a excita��o do parto. Tinha uma lacera��o
no couro cabeludo, que cosi sem anestesia, enquanto ele me
insultava. Na verdade come�ou a insultar-me e a querer bater-me
logo que eu apareci. Estava t�o b�bado que nada sentia. Ap�s o
�ltimo ponto, fui para a sala dos m�dicos e deixei-me cair na cama,
adormecendo imediatamente,
Eram 4 e 45; �s 5 e 10, uma enfermeira bateu � porta e veio
dizer-me que havia uma doente para ver. A princ�pio fiquei
desorientado, literalmente incapaz de me recordar do local onde me
encontrava e apenas consciente do martelar do meu cora��o.
Durante os vinte e cinco minutos que tinham decorrido, o sono, a
grande cura, tinha-me incapacitado, deixando-me atordoado e
enfraquecido, com cintila��es na periferia do meu campo visual.
Estas passaram quando comecei a mexer-me. Mesmo assim, o meu
olho esquerdo recusou-se a focar, e, quando abri a porta, a luz do
corredor pareceu-me de mil volts. Sentia-me t�o mal quanto era
poss�vel ainda em funcionamento.
A paciente, onde estava a paciente? A ficha que eu tinha na
m�o dizia "Dor abdominal, doze horas". Santo Deus! Isso queria dizer
que eu precisaria de registar a hist�ria completa e provavelmente
esperar pelos resultados do laborat�rio. Entrei na sala e olhei para
ela. Cerca de 14 anos, cabelo macio e sedoso � altura dos ombros,
magra, com um nariz grande. A m�e estava sentada a um canto. A
lista de perguntas para ocaso de uma poss�vel apendicite �
extensa, e comecei a percorr�-la. Quando come�ou a sentir a dor?
152
Quando a sentiu pela primeira vez? A dor deslocou-se? Parecia-se
com as c�licas de indigest�o? Ia e vinha ou mantinha-se?
Entretanto, apalpei o abd�men, para ver se havia sensibilidade,
atrav�s das bermudas, um trajo razo�vel para o clima do Havai -
mas, por baixo delas, havia qualquer coisa estranha; o n�tido recorte
de uma cinta? Que disparate. J� comeu hoje alguma coisa? Esta
noite? Sentiu v�mitos? o abd�men n�o se apresentava duro. N�o
podia estar mesmo mais macio, pois, ao apalp�-lo, n�o provoquei
qualquer desconforto. Esvaziou os intestinos? Tudo normal? Tirei o
estetosc�pio. A sua urina tem sido normal? Coloquei o estetosc�pio
nos ouvidos e pousei a camp�nula sobre o abd�men, filtrando as
palavras da paciente atrav�s dos tamp�es. J� teve dores
abdominais antes? Teve alguma �lcera? Por qualquer motivo, deixei
para o fim as perguntas sobre o ciclo menstrual. Era uma hip�tese
remota. Quando foi o seu �ltimo per�odo? A resposta soou um pouco
apolog�tica:
- Sou um rapaz.
- Olhei para ela - para ele - por um momento, tentando fazer
funcionara minha mente aturdida. Cabelo longo e sedoso, camisa
solta de veludo roxo. N�o, era uma blusa. Cinta! Metendo a m�o por
baixo da cinta, puxei tudo aquilo, quase o fazendo erguer da
marquesa. N�o havia d�vidas, era um p�nis. A m�e limitou-se a
afastar o olhar. Eu n�o estava preparado para estas invers�es
s�bitas. Pareceu-me uma partida terr�vel e cruel. Estava eu ali a
esfor�ar-me por chegar a um complicado diagn�stico intra-abdominal
e tinha-me enganado at� no sexo. De qualquer forma, ele n�o sofria
de apendicite ou de qualquer doen�a terrivelmente grave. Era,
provavelmente, um simples caso de c�licas abdominais. Pensei para
mim mesmo que, se lhe dissesse que se tratava de c�licas
menstruais, ele ficaria todo satisfeito.
Como aprendo lentamente, voltei a adormecer de imediato. Z�s!
A porta abriu-se e uma enfermeira, encantada, informou-me de que
tinha um doente. Ocorreu o mesmo processo, de novo, a mesma
agonizante puni��o de me levantar, piscar os olhos e come�ar
153
gradualmente a desanuviar o c�rebro, depois de sair do quarto. Era
um petisco, uma senhora de Samoa que arrastava consigo a m�e
doente, que n�o sabia uma palavra de ingl�s. Com tantas l�nguas
em uso nas ilhas, est�vamos habituados a trabalhar atrav�s de
int�rpretes, mas, neste caso, o ingl�s da filha nem sequer era
intelig�vel. Al�m disso, as suas queixas eram t�o numerosas que
parecia sofrer de todos os �rg�os. Do�a-lhe aqui, do�a-lhe ali, tinha
dores de cabe�a, sentia-se fraca, n�o conseguia dormir, em suma,
sentia-se muito em baixo. Tal e qual como eu.
Muito cuidadosamente, perguntei � filha se a m�e sentia
qualquer ardor quando urinava e fui recompensado por uma
express�o de total incompreens�o. Dando uma volta � frase,
perguntei-lhe se a m�e sentia dores quando fazia chi-chi, pi-pi,
ummm... acabaram-se-me os sin�nimos... quando mijava. Nessa
altura ela pareceu entender. A resposta foi fant�stica, fez-me sentir
vontade de desistir imediatamente da medicina. N�o sabia. N�o
existe na l�ngua inglesa uma palavra que possa descrever a minha
frustra��o. Disse-lhe que, pelo amor de Deus, lho perguntasse,
ent�o. E ela perguntou-lhe. Sim. E deste modo foram sendo feitas as
perguntas. Lentamente, e a resposta era sempre sim. Ela sentia
ardor ao urinar, urinava frequentemente, tinha n�useas, v�mitos,
corrimento vaginal, diarreia, obstipa��o, dores no peito, tosse,
dores de cabe�a... Dado que a m�e insistia especialmente na dor no
peito, tentei fazer-lhe um electrocardiograma, mas o aparelho
avariou-se. Quando as aves come�aram a cantar l� fora, pareceu-me
que me queriam atacar com o seu canto; mas, evidentemente,
estavam a apenas a anunciar a chegada do dia. Eu estava t�o
cansado que j� nem me interessava pela velha ou fosse pelo que
fosse. Na firme convic��o de que ela n�o morreria dentro das
pr�ximas horas, dei-lhe Gelusil, de que gostou imenso, e marqueilhe
uma consulta na cl�nica.Uma gloriosa manh� j� tinha nascido
quando ela se foi embora.
Antes que eu pudesse voltar a desaparecer na sala dos m�dicos,
chegaram simultaneamente um beb� e um velho. A m�e tinha
154
deixado cair a crian�a sobre um bra�o, que estava um pouco
inchado, e o homem tinha feito uma distens�o nas costas alguns
dias antes. Com o beb� e o velho nos raios-X, adormeci numa
cadeirajunto do balc�o, mesmo no centro das Urg�ncias. Quando o
meu substituto chegou, deixou-me continuar a dormir. Acordei
quarenta e cinco minutos depois, sentindo-me t�o mal como
anteriormente, mas sabendo que, desta vez, poderia ir para a minha
cama, Onde est�o agora as c�maras de televis�o?, perguntei a mim
mesmo, arrastando-me para o quarto, como uma pintura m�vel de
Jackson Pollock, feita de muco, v�mito e sangue secos. Foi uma
sensa��o estranha e maravilhosa, despir as roupas e deslizar entre
os len��is frescos e levemente �speros.
Come�ou assim a minha folga de vinte e quatro horas. Ao fim de
mais de um m�s no banco do hospital, sentia-me um farrapo, mental
e fisicamente. Voltei a ficar l�cido por volta da hora do almo�o,
altura em que fui acordado por uma combina��o do canto das aves,
sol e fome.
Fazer a barba e tomar um duche fizeram-me sentir quase humano
e, enquanto me dirigia ao almo�o, sob o quente sol do meio-dia,
regressei ao mundo real. Ap�s o almo�o, sucumbi a algo imperioso,
dentro de mim, que me levava a afastar-me do hospital. Dormir um
pouco mais teria sido a decis�o mais prudente, mas tinha
descoberto, por experi�ncia pr�pria, que, por mais cansado que
estivesse, o ru�do geral da tarde em volta das minhas instala��es
me mantinha acordado. Por isso enfiei os cal��es de banho, meti a
prancha de surf no carro, atirei alguns livros de Medicina para o
banco de tr�s e parti para a praia.
Foi um al�vio afastar-me dali e deixar que o tumulto de cores e
movimento me invadisse a mente. Parecia haver gente por toda a
parte, todos estranhamen te inteiros e saud�veis. No hospital,
come�a a ganhar-se a sensa��o de que toda agente do mundo sofre
de diarreia ou de dores no peito. Mas eles ali estavam, ocupados e
felizes, caminhando e misturando o riso com a actividade f�sica, os
bronzeadores e os biquinis de cores garridas. Aquelas pessoas
pareciam t�o normais. Com os meus sombrios pensamentos, eu era,
155
de certo modo, um estranho, n�o pertencia ali. Demasiado fatigado
para nadar ou jogar volley, encostei-me � prancha de surf e deixei
que a cena se desenrolasse diante de mim.
N�o tentei falar com pessoa alguma e ningu�m se aproximou de
mim, o que foi bom. Estava t�o dominado pelo banco que teria
afastado rapidamente qualquer pessoa, no seu ju�zo perfeito, com
as minhas conversas sobre sangue e ossos partidos. Mas n�o seria
esse o meu verdadeiro tema; o meu verdadeiro tema seria eu - a
minha raiva, a minha exaust�o e o meu medo. Deixa-te disso,
pensei, s�o palavras terr�veis e dram�ticas; p�ra de te embalar na
autocompaix�o. � a �nica coisa que tens feito ultimamente, sentir
pena de ti mesmo. � uma coisa muito chata, ser-se interno, n�o �?
Altera-a, se puderes, mas p�ra de ter pena de ti mesmo. Isso n�o
ajuda seja quem for, e muito menos a ti. S� gostaria, no entanto,
que a nossa civiliza��o nos aliviasse de uma parte do peso,
reconhecendo que uma bata branca e um estetosc�pio n�o conferem
sabedoria. E muito menos nobreza instant�nea.
Bom, que se lixasse tudo. Ia dormir um pouco.
Adormeci ali, ao sol, sozinho, no meio de toda aquela alegria e
daqueles risos. Na verdade, isto acontecia todas as tardes que
tinha de folga durante o per�odo de servi�o ao banco. Dormir de
manh�, comer, dormir � tarde, comer. Nada fazer durante um bocado
e depois dormir, ao acordar, constatar que o ciclo de vinte e quatro
horas recome�ava, e perguntar a mim mesmo para onde tinha ido o
tempo. Quando acordei, a tarde chegava ao fim; havia muito menos
gente e o sol estava menos forte. Ningu�m me incomodou e
continuei ali sentado a olhar para o sol e para a �gua. Era como
olhar para uma fogueira. A sua actividade parecia-me uma desculpa
para a minha imobilidade e pensamentos dispersos. N�o estava
propriamente inconsciente; tudo o que se passava � minha volta
penetrava na minha mente - todos os movimentos, os sons e as
cores. Simplesmente eu n�o os relacionava.
Hastings teve de passar com a m�o diversas vezes diante da
minha cara at� que eu o visse. Surf? Claro, por que n�o, desde que
156
eu conseguisse levar-me a mim mesmo e � minha prancha at� �
�gua. Sentia-me im�vel, como se o sol me tivesse sugado todas as
for�as que me restavam. Isso tamb�m fazia parte da rotina da tarde.
Hastings ia ter comigo � praia, bastante tarde, e pratic�vamos surf,
sem falarmos, dizendo apenas palavras como "por fora" quando
vinha uma onda grande. N�o conseguia compreender por que
faz�amos tantos planos para nos encontrarmos e depois nos
ignor�vamos um ao outro. Mas ambos gost�vamos que assim fosse.
Remar foi o ponto alto do dia, uma esp�cie de catarse. Senti o
corpo e a mente unirem-se de novo. Servia-me dos bra�os e dos p�s
para remar, sentindo a for�a que havia neles e o toque da �gua por
baixo de mim, fresca, num movimento suave. A extens�o do oceano,
estendendo-se aparentemente at� ao infinito, diante de mim, faziame
sentir pequeno mas real, mesmo no centro. As pessoas
desapareceram; as suas vozes mudaram, ficaram abafadas e
distantes, levadas pelas ondas. o sol no poente transformava todo
o c�u ocidental em quentes e suaves tons de laranja e vermelho,
reflectindo-se milh�es de vezes na superf�cie da �gua, como um
quadro de Claude Monet. A oriente, come�avam a aparecer azuis
prateados e violeta, entre os rosas e verdes distantes. o mar estava
pontilhado por barcos � vela, espalhados ao acaso, como manchas
de cor contra a �gua e o c�u. A ilha erguia-se abruptamente da
�gua e a luz do sol produzia sombras contrastantes entre as
gargantas, criando uma textura suave como o veludo e dando aos
elevados penhascos asas como os arcosbotantes de uma catedral
g�tica. Sobre a ilha pairavam nuvens de um violeta-escuro,
ocultando os picos, criando reflexos prism�ticos de arco-�ris nas
sombras dos vales. N�o sei qual era o efeito que toda esta beleza
causava nos outros, mas a mim embalou-me, esvaziou-e de todos os
outros pensamentos e fez-me sentir vivo de novo.
As ondas contribu�am para aquela atmosfera, com a sua
impetuosidade e ritmo; num momento, uma vibra��o organizada de
movimento harm�nico, no seguinte, uma massa rodopiante de
insensata confus�o. Apanhei uma das ondas. Senti o seu poder, o
vento e o som. Torcendo o corpo, num movimento a que a prancha
157
reagiu, fi-lo trabalhar contra a for�ada queda; velocidade e
milissegundos cruciais. Desci com a onda e, depois, uma tor��o do
tronco, passando a m�o pela barreira de �gua, e a queda e o
redemoinho, ainda de p�, com os p�s sobre a prancha perdida sob
um torvelinho de espuma branca. Finalmente, o coice s�bito, com
uma tor��o violenta mas controlada para tr�s, deu-me vontade de
gritar de alegria por estar vivo.
A escurid�o apagou o cen�rio por completo e trouxe-nos de
regresso � praia. Hastings seguiu o seu caminho e eu o meu, para o
hospital e para um duche. De novo no mundo geom�trico e ass�ptico
dos soalhos limpos, dos chuveiros utilit�rios e das luzes
fluorescentes, vesti-me e sa� de novo. Dirigindo-me, no carro, para o
Monte Tantalus, comecei a antever a noite que se aproximava.
Ela chamava-se Naney Shepard e eu tinha-a conhecido - como
poderia ser de outra maneira? - atrav�s do hospital. o pai dela
sofria da ves�cula biliar e eu tinha acompanhado de perto os seus
progressos, depois de ter assistido o seu m�dico particular durante
a opera��o. De cada vez que eu lhe mudava o penso, dizia-me que
gostaria que eu conhecesse a sua filha, repetindo-me que ela tinha
andado na Smith e passado um ano na Universidade de B�ston a
licenciar-se em hist�ria africana. A falar verdade, estava um pouco
farto de ouvir as suas hist�rias, embora continuasse interessado em
a conhecer. Finalmente, na v�spera da alta do pai, ela tinha
aparecido, e era simp�tica - mesmo muito. Na realidade, parecia-se
com uma outra rapariga da Smith com quem eu tinha sa�do, quando
andava na faculdade. De qualquer forma, fomos algumas vezes �
praia e divertimo-nos ambos. Ela era capaz de falar praticamente de
tudo; era agrad�vel estar com uma mulher culta e inteligente. Com
um curso de ci�ncias pol�ticas, gostava de discutir acaloradamente
pequenas quest�es governamentais, especialmente relacionadas
com �frica. Apesar de os nossos encontros terem sido sempre bem
sucedidos e da minha admira��o por ela, deixei de a convidar com
frequ�ncia, por uma quest�o de letargia e de falta de tempo. Na
verdade, o convite daquela noite para jantarmos juntos tinha sido
158
bastante inesperado. N�o que eu n�o quisesse ver Naney.
Simplesmente quase nunca podia faz�-lo - e, por essa altura, Joyce
tinha-se tornado muito conveniente.
o jantar foi �ptimo. Tamb�m estavam presentes os pais de
Nancy e dois irm�os dela, todos eles grandes conversadores. Depois
do caf�, Naney e eu fomos at� ao p�tio, grande e cheio de verdura,
e come��mos a discutir Jomo Kenyatta e a Tanz�nia. Por que n�o
teria a �frica produzido mais Kenyattas? Ela falava emocionalmente
do assunto; era agrad�vel v�-la ficar mais corada � medida que se
entusiasmava, pois isso tornava-a mais bonita ainda.
Mas depois ela come�ou a fazer-me perguntas sobre a Medicina.
Porque estava realmente interessada, n�o apenas a tentar fazer
conversa, como tanta gente, esforcei-me por a fazer compreender,
respondendo-lhe t�o bem quanto conseguia. Inevitavelmente,
perguntou-me porque tinha querido ser m�dico. Um interno tem
muitas respostas para esta pergunta. Na sua maior parte s�o meias
verdades evasivas. Mas, com ela, decidi tentar a verdade total.
- Bom, Naney, acho que nunca o saberei exactamente. No
princ�pio, suponho que sentia um vago desejo de ajudar as pessoas
e de seguir uma profiss�o nobre. Mas agora que j� percorri um bom
caminho, penso que fui atra�do, como muitos outros, pela ideia de
que ser m�dico me dava uma esp�cie de poder que as outras
pessoas n�o t�m - um poder sobre as pessoas e sobre as doen�as.
Poucas coisas representam mais para os americanos que a boa
sa�de, e aqueles que a podem dar, ou afirmam poder faz�-lo, s�o
automaticamente figuras de autoridade na nossa sociedade.
- Que queres dizer com poder e autoridade?
- Isso mesmo, suponho eu. � algo como o poder que o feiticeiro
det�m sobre uma sociedade tribal primitiva. Tem uma posi��o
elevada s� porque � capaz de jogar com os temores dos outros
homens da tribo e faz�-los acreditar que controla a natureza. � uma
esp�cie de mistifica��o leg�tima - leg�tima porque ele desempenha
uma fun��o mais ou menos �til, e mistifica��o porque, na verdade,
ele controla apenas a psicologia tribal. Penso que a Medicina
159
moderna � a herdeira afortunada desse tipo de conceito psicol�gico
errado. Os meus pacientes n�o se prostram diante do raio ou do
trov�o, mas ficam terrivelmente aterrorizados pelo cancro e por
muitas outras doen�as que n�o conseguem entender. Quando v�m
ao hospital, procuram, de certo modo, um feiticeiro. Antes de tirar o
curso, eu era como qualquer outra pessoa. Quero dizer, acreditava
no poder da Medicina para fazer quase tudo, e queria ter esse
poder, queria ser olhado como o agente desse poder.
- Mas referes-te, com certeza, ao poder de ajudar as pessoas? -
Ela ainda n�o tinha compreendido.
- Claro, eu posso ajudar as pessoas. N�o tanto como gostaria, e
nada que se pare�a com aquilo que elas esperam, mas um pouco.
Mas esse tipo de poder � terrivelmente limitado. A Medicina �
ainda relativamente primitiva. N�o sabemos ainda o bastante.
Estou a falar de outro tipo de poder, de car�cter mais abstracto.
Esse � praticamente ilimitado. Por exemplo, joguei um pouco de
rugby quando andava no liceu, e, um dia, um tipo partiu uma perna
durante o treino. Eu estava mesmo ao lado dele, no meio da
confus�o, e dei comigo a olhar para ele, querendo fazer qualquer
coisa mas sentindo-me absolutamente in�til. Quando pensei nisso,
mais tarde, s� me recordo da inveja que senti do m�dico. Sei agora
que ele pouco mais fez que dizer algumas palavras de conforto,
administrar um analg�sico e mandar levar o rapaz para o hospital.
Mas, para mim, para todos n�s, ele era uma esp�cie de deus.
Quanto mais pensava nisso, mais desejava uma parte desse poder.
- Mas, e a ideia com que come�aste, de que a Medicina � uma
profiss�o nobre, o desejo de ajudar o rapaz com a perna partida.
Que sucedeu a isso?
-Tudo isso se misturou. De qualquer forma, entrei para a
universidade com a ideia de ser m�dico. Embora se me tivessem
aberto muitos outros caminhos depois disso, n�o surgiu qualquer
alternativa que me entusiasmasse. Por isso, acabei por passar para
a escola m�dica, n�o tendo qualquer outra ideia em vista,
pretendendo ambos os tipos de poder e apercebendo-me de que os
poderia ter se seguisse a profiss�o de m�dico, para al�m da
160
posi��o social e de um sal�rio razo�vel. Agora que consegui mais ou
menos ser m�dico, todas essas no��es abstractas se desfizeram.
N�o tenho uma grande posi��o social, n�o tenho dinheiro, o tal
poder divino parece-me vazio, e, quanto ao poder sobre a doen�a...
s� pe�o a Deus que nunca tenha de ser operado. Conhe�o
demasiadamente bem as limita��es da Medicina.
Deveria ter sido suficientemente astuto para me aperceber do
desapontamento que Nancy estava a sofrer, mas n�o fui. Ela ainda
estava � espera da hist�ria do "desde crian�a", t�o cara � televis�o
e outras hist�rias de fic��o sobre a Medicina. Mas ela tinha-me feito
pesquisar dentro de mim mesmo, em busca de respostas, e a tal
crian�a n�o estava l�.
- Ent�o n�o sentes que tenhas qualquer qualidade especial que
te tenha feito tirar o curso de Medicina? Uma voca��o, por assim
dizer?
- Ela ainda estava � procura de Ben Casey.
- N�o, decididamente isto n�o � um sacerd�cio para mim. o
m�ximo que consigo aproximar-me da ideia da voca��o � ter sido
bom aluno em ci�ncias e humanidades na faculdade, e a Medicina
ser uma combina��o l�gica de ambas as coisas.
- Bom, n�o me parece que tenhas as mesmas motiva��es que os
m�dicos que eu conhe�o. - Ela estava a come�ar a irritar-se. E eu
tamb�m.
- Quantos m�dicos conheces, Naney? Todo o meu mundo �
constitu�do por m�dicos. Vivo com eles... internos, residentes,
assistentes, toda a malta da escola m�dica... e posso dizer-te uma
coisa: de maneira geral, o que sucedeu comigo tamb�m sucedeu
com eles, e o que eu sinto � o mesmo que eles sentem, se
conseguires lev�-los a confess�-lo.
- Bom, eu acho isso horr�vel.
- Que � que achas horr�vel?
- Que a nossa sociedade te tenha deixado chegar t�o longe. Tu
�s a pessoa errada para tirar um curso de Medicina porque n�o te
interessas suficientemente por ajudar os outros.
161
- Mas eu j� te disse que quero ajudar as pessoas, e fa�o-o, mas
� tudo muito mais complicado que isso. Que diabo, eu sou como
todos os outros. N�o tenho um objectivo que me consome e que
p�e de parte tudo o resto. Quero viver, tamb�m. Al�m disso, uma
grande parte do idealismo que eu tinha foi asfixiado na escola
m�dica. N�o est� orientada nesse sentido.
- N�o gostas de ser interno? - interrompeu ela.
- Nem por isso.
Ficou de novo surpreendida:
- Porqu�?
- Basicamente, sinto-me fatigado, verdadeiramente exausto,
durante a maior parte do tempo. E falta-me a sensa��o de ser
realmente �til. Tenho a impress�o de que a maior parte das coisas
que fa�o poderiam ser feitas por qualquer outra pessoa que n�o
tivesse tido o treino que eu tive. Al�m disso, sinto-me
constantemente assustado, com medo de fazer qualquer coisa mal e
passar por idiota. Bem v�s, creio que a escola m�dica n�o me
preparou assim t�o bem. - Naquela altura, a resolu��o tomada
nessa tarde de manter a boca calada tinha-se dissolvido na
intensidade do momento.
- Bom, acho que isso � compreens�vel. A escola m�dica n�o pode
fazer tudo - disse ela.
-Talvez possa ser compreens�vel � dist�ncia, mas, quando se
est� no meio das coisas, n�o se consegue compreender o que est�
a acontecer-nos. E quando paro para pensar e me apercebo de que
os quatro anos da escola m�dica foram desperdi�ados, na sua maior
parte, no que se refere a tomar conta dos doentes, e que estou a
ser explorado, sob o disfarce de estar a aprender, a carga
psicol�gica � muito pesada. Sinto-me furioso com o sistema... o
modo como a escola m�dica e o internato e a pr�tica da Medicina
est�o interligados... e com a sociedade que aceita isto.
- Enfureceres-te n�o � propriamente a atitude mais adequada
para um m�dico - disse ela com frieza.
- Estou inteiramente de acordo contigo, e gostaria que a
162
sociedade tamb�m pensasse assim. Com o tempo, chega-se a um
ponto em que nos estamos nas tintas para tudo. Por vezes, quando
sou chamado a meio da noite por causa de uma paragem card�aca,
dou comigo a desejar que o tipo morra, para eu poder voltar para a
cama. Isto � s� para veres a que ponto me sinto cansado e farto. Em
certo sentido, deixei de pensar nos pacientes como pessoas, e,
naturalmente, isso faz-me sentir ainda mais culpado.
Ao olhar para ela, quase podia ver a sua �tica a estalar sob a
tens�o das minhas palavras. Prossegui cegamente.
- Suponho que este aspecto de n�o pensar nos doentes como
pessoas � o mais dif�cil de explicar. Talvez alguns m�dicos consigam
manter indefinidamente a empatia. Mas eu n�o. N�o posso. Para
sobreviver, neste momento, quero conhecer os meus pacientes
apenas como ves�culas, ou h�rnias, ou �lceras. Evidentemente,
incluo nisso tudo o que eles t�m que afecte directamente o seu
processo patol�gico b�sico, e creio que estou a tornar-me um bom
m�dico, tecnicamente, mas, para al�m disso, n�o quero sentir-me
envolvido. o meu sistema n�o est� engrenado para isso. Tive um
doente chamado Roso e interessei-me de tal modo por ele que,
quando ele teve alta, fiquei mais aliviado por ele se ter ido embora
do que satisfeito por ele ter sobrevivido.
o sil�ncio foi gelado. Olhei para o c�u, afastando
propositadamente o olhar dela. Depois, prossegui.
- Outra coisa. Muito importante. Como interno, sou explorado da
mesma forma que qualquer pa�s subdesenvolvido a actuar sob
rela��es mercantis com uma pot�ncia colonial. Por exemplo, tudo o
que eu fa�o na sala de opera��es, durante noventa por cento do
tempo, � segurar os retractores, muitas vezes para o mais
desleixado dos m�dicos de cl�nica geral, que nem sequer deveria
operar. Estou ali para ser usado. Tudo o que aprendo � apesar do
sistema, n�o gra�as a ele. E se n�o fizer o que me mandam, ou fizer
queixas de mais acerca do sistema m�dico... puf!... l� se v�o as
minhas hip�teses de me especializar num bom hospital. Por isso,
quando eu digo que tenho medo de fazer asneira, n�o estou s�
preocupado por causa do doente... embora tamb�m o esteja, em
163
parte... mas porque posso ser corrido e acabar em qualquer cidade
da prov�ncia a dar injec��es contra a febre tif�ide. Isso, em
Medicina, � o equivalente aos mortos-vivos.
"E, al�m disso, h� uma s�rie de problemas muito reais e muito
graves, sobre os quais ningu�m nos fala, nem nos aconselha. Como
a quest�o das urg�ncias sobre quando deveremos tentar reanimar
um doente ou deix�-lo em paz. Como internos inexperientes, somos
totalmente vulner�veis a essas coisas. E n�o se trata inteiramente
de um problema m�dico. E a �tica que ele implica? Se a pessoa �
reanimada e fica transformada num vegetal, o que significa que vai
ficar a ocupar uma das t�o necess�rias camas dos C.I., privamos uma
outra pessoa dessa cama dos C.I., algu�m que poderia ter melhores
hip�teses. E uma decis�o que cabe aos deuses. A escola m�dica
nunca me ensinou a fazer de Deus. E depois todos...
Eu tinha continuado a falar, olhando para as �rvores escuras,
coligindo todos estes pensamentos pela primeira vez. De certo
modo, estava a falar para mim mesmo apenas, e quando me voltei e
fitei Nancy, ela explodiu, detendo-me a meio da frase:
- �s uma pessoa incrivelmente ego�sta! - disse.
- N�o me parece. Apenas vivo no mundo real.
- Para mim, �s um ego�sta... frio, desumano, sem qualquer �tica,
imoral e destitu�do de simpatia. E n�o s�o essas as caracter�sticas
que procuro num m�dico. - Ela era capaz de ferir, quando queria.
- Escuta, Naney, o que eu te disse � a verdade, e n�o apenas a
minha. � uma mistura do que sente a maior parte dos internos que
conhe�o.
- Ent�o deviam ser todos expulsos.
- Isso mesmo, querida! Se est�s t�o convicta do que dizes, por
que n�o organizas uma manifesta��o em frente do banco do
hospital? A compaix�o � f�cil quando se dorme oito horas pornoite.
Na maior parte das noites, durmo menos de metade. Passo o resto
do tempo a observar os pruridos das hemorr�idas da Sra. Fulana.
N�o armes em moralista comigo, sentada no teu cadeir�o.
E assim prosseguiu a conversa, acabando com ambos a ferver de
164
raiva. Parti, depois de uma promessa pouco convicta de voltar a
telefonar-lhe proximamente.
De regresso ao meu quarto geom�trico, todo branco, fiquei
estendido na cama, furioso, todo contra�do, com menos de nove
horas antes que recome�asse oholocausto das Urg�ncias. Dormir
estava claramente fora de quest�o. Telefonei para o laborat�rio e
Joyce atendeu. Perguntei-lhe se poderia vir �s onze. Ela disse que
sim e senti-me melhor.
307.o Dia
CIRURGIA GERAL: SERVI�O DE ENSINO PARTICULAR
Para um interno, na pr�tica da Medicina, durante a segunda
metade do s�culo XX, Alexander Graham Bell � o maior vil�o de
todos os tempos. As culpas, naturalmente, dever�o ser alargadas,
de modo a inclu�rem n�o s� o homem que inventou o telefone, mas
tamb�m o s�dico que criou o toque da campainha. E tamb�m todos
aqueles tipos que trabalhavam para a M�e Bell e que perpetuaram
o toque - esses tamb�m dever�o ser inclu�dos. Como funcionariam os
hospitais antes da inven��o do telefone? Naquela �poca, eu pr�prio
j� me considerava como uma mera extens�o daquela pe�a de
pl�stico negro. Era t�o aterrorizador como uma ambul�ncia, e
bastante mais s�bito- sempre esperado, de certo modo, no fundo do
meu c�rebro, mas, de qualquer forma, apanhando-me sempre
desprevenido. Em todo o mundo, n�o existe outro som como aquele
para perturbar a paz das pessoas.
Naquele momento, a minha paz consistia em adormecer
suavemente ao lado de Karen Christie no apartamento dela, ap�s
uma uni�o mutuamente satisfat�ria, penso eu. Quando o telefone
tocou �s duas horas da madrugada, estendemos ambos a m�o para
ele. Deixei-a atender - n�o por ser provavelmente para ela. Como eu
estava de servi�o, o mais prov�vel era ser a telefonista da noite a
convidar-me a regressar aos seus corredores. Mas � que tamb�m
podia ser o chamado namorado de Karen.
Na realidade, era a telefonista do hospital, que me passou uma
165
enfermeira.
- Doutor, pode vir j�? Um dos doentes particulares do Dr. Jarvis
est� com problemas respirat�rios e o Dr. Jarvis quer que se ocupe
dele.
Rolando para ficar de costas, olhei para o tecto e praguejei
interiorrnente, afastando o telefone do ouvido. Conhecia bem o Dr.
Jarvis. Era nada menos que o nosso velho amigo Supercaro, famoso
pelas suas chacinas na sala de opera��es, especialmente em
bi�psias da mama. - Est� a�, doutor? - perguntou a enfermeira.
- Estou sim, Enfermeira, ainda estou aqui. O Dr. Jarvis tenciona
vir c�?
- N�o sei, Doutor. T�pico. N�o s� do Supercaro, mas da maior
parte dos m�dicos particulares ligados ao hospital. o interno iria ver
o paciente, faria uma recomenda��o e telefonaria ao m�dico
particular que, evidentemente, diria ao interno que fizesse o que lhe
parecesse melhor. Na maior parte destes casos, os tipos nem sequer
se davam ao trabalho de ser delicados. Certa vez, tinha passado
cerca de uma hora a tratar de um dos casos do Supercaro. Quando
telefonei a fazer o meu relat�rio, o Supercaro j� tinha sa�do do
consult�rio e tive que deixar uma mensagem � secret�ria dele, para
que ele me telefonasse � chegada, Telefonou, efectivamente, mas
para a enfermeira de servi�o, n�o para mim. Quando ela lhe disse
que eu queria falar urgentemente com ele, disse que n�o tinha
tempo para falar com todos os internos do hospital. Corre, corre,
para apanhar mais uns d�lares - era esse o jogo do Supercaro.
o Supercaro tinha um outro h�bito interessante. Internava todos
os seus doentes ao abrigo do chamado programa de ensino. Seria
de pensar, naturalmente, que um programa de ensino nos ensinaria,
pelo menos, alguma coisa. Sabe Deus que os internos bem
precisavam disso. Na pr�tica, o programa de ensino n�o passava de
uma piada. Significava apenas que eu, ou qualquer dos outros
internos, fazia toda a hist�ria do internamento do paciente e o
exame f�sico - o trabalho "b�sico". Como recompensa, t�nhamos
direito a preencher tamb�m a alta. Mas, entretanto, n�o t�nhamos
166
direito a discutir as ordens, e, na sala de opera��es, a nossa
contribui��o consistia em segurar nos retractores, remover verrugas
e, talvez, dar alguns n�s, se o m�dico estivesse num dos seus dias
condescendentes.
o desplante m�ximo do Supercaro tinha ocorrido pouco antes, no
caso da bi�psia da mama, que ele tinha feito pessimamente. Na
ficha de internamento, com os detalhes do caso, tinha escrito uma
nota dizendo que o pessoal - ou seja, o interno - que trabalhasse no
caso n�o deveria examinar as mamas. Ora, como poderia eu fazer
uma hist�ria adequada e um exame da paciente, num caso de
bi�psia da mama, sem examinar as mamas? Rid�culo. E agora queria
que eufosse a correr, �s duas da manh�, para reparar outro dos seus
erros.
A enfermeira continuava � espera.
- o doente foi operado? - perguntei.
- Foi, sim. Esta manh�. A uma h�rnia - respondeu ela. - E n�o
est� muito bem. As dificuldades respirat�rias j� duram h� algumas
horas.
- Est� bem, estou a� dentro de alguns minutos. Entretanto, quero
que levem para o quarto um aparelho de raios-X port�til e lhe fa�am
uma radiografia ao t�rax. E tirem sangue para se fazer uma
contagem completa; e verifiquem se h� um aparelho de respira��o
de press�o iositiva e um aparelho para ECG no andar.
N�o queria ficar o resto da noite � espera do material. Talvez
n�o viesse a precisar dele, mas era melhor t�-lo � m�o. Quando sa�
da cama, Karen n�o se mexeu. N�o tinha import�ncia. Enquanto me
vestia, voltei a pensar como ela era conveniente. o seu apartamento
ficava mesmo em frente do hospital, at� mais perto que o meu
pr�prio quarto. E tinha todos os confortos... aparelho de televis�o,
gira-discos, um frigor�fico bem abastecido com cerveja e carnes frias.
Karen e eu t�nhamos come�ado a andar juntos quatro meses
antes, pouco depois de eu ter observado a sua invulgar radiografia,
na noite em que ela tinha ca�do na escada. Depois disso, ela
passara para o turno de dia, onde volt�mos a encontrar-nos e
come��mos a passar juntos as pausas para o caf�. Uma coisa levou
167
� outra, e ir ao apartamento dela tornou-se um h�bito - mais ou
menos na altura em que Joyce deixou de andar comigo.
Joyce, que tamb�m tinha passado para o turno de dia, come�ou
a querer armar-se em turista, e visitar todos os locais nocturnos.
Depois disso surgiu uma certa press�o para eu conhecer os pais
dela e um crescente aborrecimento perante certas sa�das subrept�cias
a meio da noite. Tentei continuar a nossa rela��o, mas a
companheira de quarto dela, viciada em TV, estava sempre l�, e o
nosso relacionamento, que nunca tinha sido muito saud�vel, acabou
por azedar por completo. Dadas as circunst�ncias, Joyce e eu
decidimos afastar-nos por um tempo, para termos oportunidade de
pensar.
Karen tinha outro namorado, o que sempre me intrigou bastante.
Encontrava-se com ele de vez em quando, talvez duas ou tr�s vezes
por semana, quando iam ao cinema ou mesmo a um clube nocturno.
Ela dizia que o rapaz queria casar-se, mas ela n�o conseguia
decidir-se; eu n�o o conhecia, nem sabia muito a seu respeito,
embora tenhamos falado uma vez, rapidamente e por acaso, quando
ele telefonou para casa de Karen. No fundo, eu n�o pretendia
arriscar uma coisa boa com investiga��es mais profundas.
Quando ia a caminho de ver o paciente do Supercaro, reparei
que a noite estava invulgarmente silenciosa, quase sem vento,
embora um banco de nuvens baixo pairasse sobre a ilha,
obscurecendo o c�u. Tinha chovido fortemente durante toda a
semana. Enquanto me dirigia para a ala oeste do hospital, olhei
para as Urg�ncias e veio-me logo � mente a recorda��o da minha
luta cega e exaustiva. Via os habituais aglomerados de actividade,
com pessoas � espera e enfermeiras passando, numa mistura
aparentemente confusa. Parecia um pouco mais animado do que era
habitual numa noite de ter�a-feira, e tive esperan�as de que se
mantivesse suficientemente calmo para que a minha presen�a n�o
fosse necess�ria. Sempre que recebia uma chamada nocturna das
Urg�ncias, tratava-se geralmente de um internamento - talvez uma
interven��o cir�rgica, e isso podia ser mau.
168
O corredor da enfermaria estava mortalmente silencioso e
escuro, com excep��o das pequenas luzes nocturnas que
espreitavam dos quartos, enquanto eu passava rapidamente por
eles a caminho do posto das enfermeiras. Este situava-se no
extremo da enfermaria e, � medida que dele me aproximava, a luz
ia-se tornando gradualmente mais brilhante. Naquela altura, j� era
uma sensa��o familiar, para mim, percorrer aqueles corredores
escuros, cujo sil�ncio era apenas quebrado por uma subcorrente de
sons hospitalares - o leve tilintar dos suportes das IV, um sonolento
gemido ocasional -, sons que sempre me davam a sensa��o de estar
sozinho no mundo. Outros m�dicos j� me t�m falado de sensa��es
semelhantes. Na verdade, j� tinha deixado de analisar o hospital e
os seus efeitos sobre mim, como fazia dantes, tendo-me tornado,
em certo sentido, cego para o que me rodeava. Como um inv�sual,
tomava por certos os pontos de refer�ncia, as diversas portas e
curvas, e era frequente chegar ao meu destino sem dar pelo caminho
nem pelos meus pensamentos durante o percurso.
Alguns meses antes, a telefonista tinha-me chamado por causa
de uma paragem card�aca, Eu tinha-me levantado, vestido e corrido
at� ao hospital, antes de me aperceber de que ela se tinha
esquecido de me dizer onde se encontrava o paciente, nem qual a
enfermaria. Felizmente eu tinha tido um palpite certo - gra�as a um
sexto sentido, chegava-se ao ponto de, ao ser acordado, se obter
precisamente a informa��o certa antes de ela nos ser dada.
Isto tinha as suas desvantagens ocasionais - como, por exemplo,
no caso de uma das frequentes chamadas nocturnas para ir ver um
paciente que tinha ca�do da cama. Fiz uma corrida autom�tica e
insensata at� �enfermaria e l� o encontrei, emboaforma,
naturalmente. Depois de telefonar ao seu m�dico, deixei ordem para
lhe darem uma injec��o de Seconal, para ter a certeza de que ele
iria dormir, e depoisrastejei de novo para a cama. Tudo sem ter
chegado praticamente a acordar. A mesma enfermeira telefonou-me
pouco depois para me dizer que o doente tinha voltado a cair,
desta vez num lan�o de escada. Levantei-me outra vez, perguntei
169
qual era a enfermaria, e parti a correr. A meio do caminho, enquanto
subia umas escadas, tropecei numa massa inerte estendida no
patamar. Fiquei parado, aturdido, e levei uns dez segundos para me
reprogramar para o facto de que o que estava diante de mim era o
paciente que eu tinha ido ver. Mas ele deveria ter estado no andar
de cima! Naturalmente, estava ali porque tinha ca�do pelas escadas.
Encontrando-se totalmente fl�cido durante a queda, n�o se tinha
magoado. Tinha sucedido simplesmente que todas as injec��es - o
analg�sico, o anti-histam�nico, o relaxante muscular e o meu Seconal
- tinham sido dadas simultaneamente pela enfermeira e tinham feito
efeito ao mesmo tempo, precisamente quando ele descia o primeiro
degrau.
Eu nem sempre andava envolto em nevoeiro. Simplesmente,
desenvolvi uma espantosa habilidade para continuar a dormir
durante o caminho para ir fazer qualquer tarefa est�pida a meio da
noite. Era diferente quando era chamado por causa de alguma coisa
grave, ou quando estava irritado. Mas dado que o nosso hospital
sofria de uma epidemia de pessoas que ca�am da cama, aprendi a
desempenhar essa fun��o sem acordar completamente.
o posto das enfermeiras parecia t�o iluminado como um est�dio
de televis�o, ap�s aquele longo percurso no escuro. A enfermeira
ficou efusivamente satisfeita por me ver e informou-me logo do
quej� tinha feito. o sangue tinha sido enviado para o laborat�rio e
a radiografia tinha sido feita, e os aparelhos de ECG e de
respira��o estavam a postos no quarto do paciente. Tirei-lhe a ficha
da m�o e observei os resultados que, evidentemente, tinham sido
obtidos por outro interno. Uma caixa de bombons tentava-me da
secret�ria pr�xima, e meti alguns na boca. A temperatura estava
normal. A press�o tinha subido e o pulso estava muito elevado. A
contagem estava perfeita. Nada conseguia encontrar que
justificasse os problemas respirat�rios. Tudo me parecia mais ou
menos normal para uma opera��o recente a uma h�rnia.
Sa� para o corredor e voltei quase ao seu in�cio. Ao entrar no
quarto, acendi a luz, iluminando um homem p�lido recostado na
cama que inalava com dificuldade a cada expira��o. Aproximando-
170
me, pude ver que estava diafor�tico, com gotas de suor abrilharna
testa. Olhou-me, Por um segundo, e depois afastou o olhar, como se
precisasse de concentrar-se na respira��o. Olhando pelajanela,
apercebi-me de que conseguia ver o pr�dio e a janela de Karen, a
segunda da direita, no terceiro andar. Perguntei a mim mesmo se
ela teria dado pela minha sa�da.
Com o estetosc�pio nos ouvidos, inclinei o paciente para a
frente e escutei os campos pulmonares. Os sons respirat�rios eram
n�tidos - nada de estalidos, nem roncos nem assobios. Nada. Talvez
os campos pulmonares soassem um pouco alto; mas isso parecia
coadunar-se com o facto de ele ter o abd�men inchado e um pouco
r�gido. Mas n�o estava sens�vel. Auscultando o abd�men, escutei os
tranquilizadores gorgolejos habituais. Os sons card�acos eram
normais; n�o havia sinais de falha card�aca. S� me restava ver se o
est�mago esbaria cheio de ar. A dilata��o g�strica era um problema
frequente depois da anestesia geral. Disse � enfermeira que fosse
buscar um tubo nasog�strico e, entretanto, preparei o ECG. Aquelas
maquinetas eram sempre uma fonte de irrita��o para mim, quando
tentava us�-las de noite, sem t�cnicos para me dar uma ajuda. Como
nunca parecia conseguir um bom campo el�ctrico, o tra�ado
vagueava pela p�gina toda. Mas consegui p�r este a funcionar bem,
ligando o cabo de terra ao cano do lavat�rio, e obtive um tra�ado
enquanto o paciente continuava a respirar com dificuldade. A
enfermeira tinha regressado com o tubo nasog�strico antes de eu
terminar o ECG. Enquanto untava o tubo, n�o conseguia deixar de
pensar no m�dico que dormia na sua casa, enquanto eu estava ali a
aplicar o seu tubo nasog�strico.
Uma coisa n�o me abandonara, tornara-se mesmo mais forte,
durante os �ltimos dez meses - a satisfa��o de conseguir um
resultado r�pido e conveniente -, e senti-me aliviado quando
evacuei uma grande quantidade de fluido e ar do est�mago do
paciente. o meu al�vio foi insignificante, por�m, em compara��o com
o dele. Ainda sentia dificuldade mas a sua respira��o era muito
mais f�cil agora. Quando me expressou o seu profundo
171
agradecimento, precisou de recuperar o f�lego antes de dizer a
frase completa. Escutei-lhe novamente os pulm�es, para me
certificar de que n�o havia fluido dentro deles. Estavam limpos. As
pernas tamb�m estavam normais, n�o apresentando qualquer
edema nem sugest�es de trombofiebite. Espreitando por baixo do
penso, achei que a incis�o estava com �ptimo aspecto, sem
excessiva drenagem. Disse � enfermeira que fosse buscar um
aparelho de suc��o para o tubo nasog�strico e a ligasse, enquanto
eu voltava ao posto das enfermeiras com o ECG.
Ainda tinha pouca pr�tica da leitura dos ECG, mas aquele
parecia-me bom. Pelo menos, n�o havia arritmias. Possivelmente
haveria uma leve sugest�o de tens�o card�aca do lado direito, na
onda S, mas nada dr�stico. Como medida de precau��o, decidi
telefonar para o residente m�dico para me ajudar na leitura. Ap�s
um minuto ou dois de contrac��o, enquanto eu explicava a situa��o
e o residente me escutava, ele acabou por dizer que n�o podia
descer para ver o ECG porque se tratava de um doente particular.
Podia compreender a sua relut�ncia. Assemelhava-se � minha
quando um interno de servi�o me telefonava � noite a pedir-me
ajuda para fazer uma incis�o para introdu��o de um cat�ter, ou
qualquer outra coisa no g�nero, num doente particular. Se os
assistentes nos tivessem feito sentir que era uma quest�o de
coopera��o rec�proca, cada um segurando na sua ponta, essas
pequenas tarefas desagrad�veis teriam sido mais f�ceis de
executar. Mas na medicina americana grande parte da diferen�a
entre um interno e um m�dico j� pronto � literalmente a diferen�a
entre a noite e o dia. Deixavam-nos fazer praticamente tudo depois
de o Sol se p�r, quando o ensino era inexistente, mas nada durante
o dia, quando poder�amos aprender qualquer coisa. Como sempre,
havia algumas simp�ticas excep��es que confirmavam a regra - mas
muito poucas.
No in�cio do meu internato, tinha sido bastante ing�nuo em
rela��o a este relacionamento senhor-escravo, n�o conhecendo os
meus direitos. At� me sentir esgotado, tentei ver todos os
172
pacientes, particulares ou indigentes, dentro ou fora do servi�o de
ensino, por insignificante que fosse a sua queixa. Finalmente, no
entanto, foi uma quest�o de sobreviv�ncia. Actualmente, no
entanto, sempre que era chamado de noite para qualquer tarefa de
rotina respeitante a um doente particular - uma subida de
temperatura, por exemplo - perguntava sempre o nome do m�dico.
Se n�o fosse dos que me agradavam - e na maior parte n�o eram -
dizia � enfermeira que lhe telefonasse e lhe dissesse que os
internos n�o s�o obrigados a tratar de casos particulares, excepto
em emerg�ncias. Isso n�o se aplicava, naturalmente, aos casos
privados do servi�o de ensino. Nesses casos, tinha de ir,
independentemente do m�dico.
Os m�dicos de meia-idade ou mais velhos gostam de fazer
invejosas compara��es entre a nossa vida supostamente f�cil e os
seus velhos tempos espartanos. Ao ouvi-los falar, dir-se-ia que,
trinta anos antes, um interno vivia abaixo do n�vel de pobreza. Os
nossos sumptuosos sal�rios, que eu calculava atingirem cerca de
metade do que se pagava a um canalizador, enfureciam-nos. Para
onde ia este mundo?, costumavam dizer. N�s t�nhamos que tratar de
todos os doentes, fosse qual fosse a sua posi��o, e nunca
dorm�amos, e n�o t�nhamos todas estas maquinetas, e assim por
diante. A atitude deles em rela��o a n�s era simplesmente
venenosa: eles tinham sofrido, n�s dever�amos sofrer tamb�m. Assim
a educa��o m�dica, nestes tempos iluminados, passa de gera��o
em gera��o; cada uma tem a sua vingan�a.
E onde ficava o paciente, em tudo isto? Era apanhado no meio -
um s�tio bastante desconfort�vel, com as bombas e as granadas da
guerra m�dica a ca�rem � sua volta.
Curiosamente, a maior parte da legisla��o que sa�a de
Washington s� servia para piorar a situa��o. Era forte a tend�ncia
para se prestarem cada vez mais cuidados particulares � custa do
governo, mas sem qualquer esfor�o no sentido de controlar a
qualidade dos cuidados m�dicos ou de educar o doente potencial.
Subitamente armados com o poder dos d�lares, os pacientes
anteriormente indigentes eram lan�ados para o mercado m�dico sem
173
qualquer no��o de como escolher um m�dico, e, de certo modo,
como que atrav�s de um grande des�gnio enganador, pareciam
dirigir-se aos m�dicos marginalmente competentes, cuja clientela
dependia do volume e n�o da qualidade. o resultado imediato era
que os tipos de pacientes que os internos e residentes costumavam
tratar apareciam agora nas enfermar�as particulares sob os ternos
cuidados de m�dicos que, como o Supercaro, n�o sabiam trat�-los,
quanto mais ensinar. Mesmo o velho Roso tinha voltado a aparecer,
com um pequeno problema, sob os cuidados de um m�dico particular
que n�o queria que o pessoal do hospital mexesse na ficha. Tendo
ficado encalhados pela mar� do dinheiro, os internos eram for�ados
a usar as muletas desses m�dicos arcaicos para ganhar experi�ncia
a tratar certos tipos de casos. Todos ficavam prejudicados. Nos
velhos tempos, quando esses pacientes eram internados no servi�o
geral, eram tratados com a ajuda dos melhores especialistas do
hospital. Sucedia, logicamente, que os assistentes mais capazes e
dotados de maiores conh ecimen tos faziam tamb�m parte do
pessoal docente de servi�o, porque o comit� de ensino do hospital
e o servi�o de pessoal seleccionavam os melhores que conseguiam
arranjar. E os assistentes que estavam mais interessados em ensinar
eram, quase invariavelmente, os que sabiam mais. Se alguma vez
era chamado, de noite, para ver um doente deles, ia sempre, fosse
qual fosse o motivo.
Mas agora, em vez de serem admitidos no servi�o de pessoal,
onde eram preciosos para fins de aprendizagem, e, ao mesmo
tempo, recebiam melhor atendimento m�dico que quaisquer outros,
os antigos pacientes desse servi�o estavam a passar-se para os
homens de Neanderthal. Como era poss�vel que uma coisa t�o vital
como a educa��o e os cuidados m�dicos fossem lixados deste
modo? A situa��o parecia-me particularmente assustadora em
rela��o � cirurgia, e fazia, sem d�vida, que os ingleses, os suecos e
os alem�es parecessem muito esclarecidos. Eles s� permitem que,
nos hospitais, as opera��es sejam feitas por especialistas. Nos
Estados Unidos, qualquer cretino com um diploma m�dico pode
174
efectuar qualquer tipo de opera��o que queira, desde que o
hospital o permita. Eu sabia como o meu treino da escola m�dica
tinha sido insuficiente em rela��o aos cuidados a prestar aos
pacientes; mas tamb�m sabia que poderia obter uma licen�a para
praticar medicina e cirurgia em qualquer dos cinquenta estados. Que
haver� na psique americana que nos permite gastar milh�es a
policiar o mundo, e, no entanto, nos leva a aceitar um sistema
m�dico criminosamente atrasado? Como todas as outras quest�es
importantes durante o meu internato, esta tamb�m acabou por ser
posta de parte, gra�as � exaust�o. Comecei a aceitar a quest�o
como se n�o houvesse alternativa. Na realidade, de momento n�o
h� alternativa. o problema, naquele momento, tinha-me vindo �
cabe�a porque havia problemas, e eu sabia que ia ter muitos
aborrecimentos com o Supercaro por causa da radiografia e dos
outros testes que tinha mandado fazer ao homem da h�rnia. Voltei a
perguntar a mim mesmo por que n�o me teria dedicado �
investiga��o.
Antes de telefonar ao Supercaro e o acordar, quis observar a
radiografia que tinha sido feita no aparelho port�til. Ele iria, por
certo, explodir quando a descobrisse, de manh�, mas eu estava-me
absolutamente nas tintas para isso.
o corredor come�ou a ficar cada vez mais escuro enquanto
voltava para tr�s, percorrendo o labirinto do hospital at� aos raios-
X. o local estava t�o escuro e silencioso que, quando l� cheguei,
n�o consegui encontrar o t�cnico. Finalmente, desesperado, peguei,
no telefone e marquei um dos n�meros do departamento de raios-X.
� minha volta, uma d�zia de telefones voltou � vida. Algures,
algu�m atendeu um deles, silenciando os outros. Disse � voz que me
falava que estava no seu departamento e pretendia ver um port�til
que ele tinha feito mais ou menos uma hora antes, ap�s o que o
homem saiu de uma porta a cerca de tr�s metros de dist�ncia, a
piscar os olhos e a enfiar a camisa dentro das cal�as. Segui-o at�
um monte de caixas e esperei, enquanto ele folheava uma pilha de
negativos.
o departamento de raios-X tinha uma caracter�stica- pareciam
175
nunca saber onde as coisas se encontravam. Aquela radiografia
tinha menos de uma hora e elej� n�o sabia onde ela se encontrava.
o homem disse que n�o conseguia perceber porqu�. Diziam sempre
isso, e eu estava de acordo com eles. Durante o dia, as secret�rias
conseguiam encontrar o raio das chapas, mas eram as �nicas.
Enquanto o t�cnico percorria uma pilha de chapas ap�s outra,
encostei-me ao balc�o e esperei. Era como ver um replay infind�vel
de uma passagem incompleta. Finalmente ele puxou uma chapa de
um monte que se pensava j� ter sido visto. Colocando-o no visor de
radiografias, acendeu a luz, que piscou algumas vezes e depois
ficou acesa. Estava ao contr�rio e ele teve de a virar.
Estava uma desgra�a-a radiografia, n�o o paciente. Os
aparelhos port�teis n�o eram, na realidade, muito bons, e eu
estava certo de que o radiologista me teria dito que era rid�culo
pedir uma port�til quando o paciente poderia ter sido levado ao
andar de cima para fazer uma boa radiografia. Nunca tentei explicar
que a port�til se justificava porque eu podia solicit�-la do meu
quarto, pelo telefone, e receb�-la - desde que n�o se perdesse - na
altura em que chegasse junto do paciente. Caso contr�rio, teria de
ficar sentado durante uma hora, a meio da noite, � espera que
fizessem uma boa radiografia do paciente. Este tipo de racioc�nio
n�o fazia sentido para uma pessoa -um radiologista, por exemplo -
que dormisse a noite inteira.
A radiografia parecia normal para uma port�til, o que quer dizer
que era uma mancha confusa, com excep��o do g�s no est�mago e o
facto de o diafragma aparecer elevado. Mesmo isso era enganador,
porque, com o homem deitado na cama, nunca se poderia saber ao
certo de que �ngulo o t�cnico de raios-X tinha feito a radiografia.
De qualquer forma, tudo parecia bem.
Em seguida, falei pelo telefone com o t�cnico do laborat�rio e
pedi-lhe os resultados da contagem sangu�nea. o laborat�rio de
sangue era muito bom; normalmente davam logo os resultados dos
testes. Mas naquela noite a t�cnica pediu-me que me identificasse,
porque o hospital n�o podia prestar essas informa��es a pessoas
176
n�o autorizadas. Que quest�o rid�cula! Quem mais poderia telefonar
a pedir uma contagem de sangue �s tr�s horas da madrugada?
Identifiquei-me com o nome de Ringo Starr, o que pareceu satisfazer
a rapariga. A contagem tamb�m estava normal.
Armado destas informa��es, liguei para casa do Supercaro. o
som do telefone a tocar no outro extremo era uma del�cia para os
meus ouvidos. Tocou quatro, cinco, seis vezes. o Supercaro, fiel �
sua reputa��o, tinha o sono pesado. Finalmente respondeu.
- Fala o Dr. Peters, do hospital. Estive a ver o seu doente, o caso
de h�rnia com complica��es respirat�rias.
- Bom, como est� ele?
- Muito melhor, Doutor. Tinha o est�mago muito dilatado e
evacuei quase um quarto de litro de l�quido e bastante g�s, atrav�s
de um tubo nasog�strico.
Sim, j� calculava que fosse esse o problema. Mentiroso, pensei,
convicto de que o Supercaro n�o tinha feito a m�nima ideia do
problema. Prossegui.
- Achei aconselh�vel verificar os outros sistemas, por isso tenho
aqui os resultados de uma contagem de gl�bulos, uma radiografia
do t�rax e um ECG. Parecem aceit�veis. Tudo, excepto o diafragma,
que...
Soou um rugido pelo telefone.
- Meu Deus, rapaz, n�o precisava de todas essas muletas. o meu
doente n�o � milion�rio, nem estamos na Cl�nica Mayo. Que diabo
anda a fazer? Eu podia ter-lhe dito onde estava o problema apenas
com um estetosc�pio e um pouco de percuss�o. Voc�s, os jovens,
pensam que o mundo foi feito para as m�quinas. No tempo em que
eu fazia esse trabalho, n�s n�o... - Podia imaginar o seu rosto a
ganhar um tom avermelhado, as veias do pesco�o a ficarem
salientes. Esperava sinceramente que ele ficasse com ins�nias
durante o resto da noite.
- E que � que fez com o tubo nasog�strico, Peters?
- Pu-lo em suc��o, Doutor, e deixei-o ficar assim.
- N�o sabe mesmo nada? o tipo vai ficar com uma pneumonia,
177
com aquela coisa enfiada. V� tir�-lo imediatamente.
-Mas, Doutor, o doente est� com falta de ar e receio que o
est�mago comece a dilatar-se outra vez.
- N�o discuta comigo. V� tir�-lo. Nenhum dos meus doentes de
h�rnias dever� ter tubos nasog�stricos. Essa � uma das minhas
regras b�sicas, Peter, b�sicas. - Clique. Eu tinha na m�o um telefone
desligado.
Voltei � enfermaria e retirei o tubo. o doente continuava a
esfor�ar-se por respirar, mas n�o tanto como antes. Quando ia a
sair, entrou uma enfermeira, que ficou obviamente um pouco
surpreendida e nervosa por me ver ali. Trazia uma agulha na m�o.
Num tom um pouco culpado, disse-me que o Supercaro tinha
telefonado e mandado dar mais sedativo. Fiquei t�o furioso que
nem lhe perguntei qual; limitei-me a sair.
Agora tinha que decidir para onde iria, para o meu quarto ou
para o apartamento de Karen. Este �ltimo n�o fazia sentido, porque
Karen estava, por certo, a dormir profundamente. Al�m disso, os
meus utens�lios de barbear n�o estavam l� - uma pol�tica que
segu�amos para evitar explica��es ao outro tipo. Se eu voltasse
para o meu quarto, poderia barbear-me quando me levantasse de
manh�, da� a algumas horas. J� passava das tr�s. Por isso, voltei
para o meu quarto e liguei para a telefonista para lhe dizer quej�
n�o estava no outro n�mero. Ela disse que compreendia. Perguntei a
mim mesmo at� que ponto compreenderia.
Mal tinha pousado a cabe�a na almofada quando o telefone
tocou de novo. Valha-me Deus, pensei, provavelmente � um novo
internamento nas Urg�ncias. Que raio de noite de ter�a-feira! Mas
era a mesma enfermeira, a dizer-me que o paciente da h�rnia
estava outra vez pior, e o m�dico particular queria que eu o fosse
ver imediatamente. Come�ava a ficar farto daquilo - para cima e
para baixo, a ver pacientes em rela��o aos quais a minha
responsabilidade era t�o confusa e indeterminada que eu nunca
sabia em que posi��o colocar-me. Era consider�vel a ironia da
situa��o. Neste caso, o Supercaro mal tinha acabado de me ralhar
por ter pedido testes laboratoriais e porter deixado ficar o tubo
178
nasog�strico, tinha telefonado � enfermeira - n�o a mim - para lhe
dar um medicamento; e agora queria que eu fosse ver o paciente de
novo. N�o fazia muito sentido, a menos que se pensasse que eu
apenas servia para que o bom doutor pudesse dormir. Era �bvio que
o paciente n�o estava a receber aquilo que tinha pago. E eu? Eu
estava a receber um ensinamento menor que zero. Talvez um dia, se
tivesse sorte, eu pudesse aspirar a ser um m�dico como ele, e a
estar-me nas tintas para os internos, os pacientes e os cuidados
m�dicos em geral.
Por agora, estava a descer de novo no elevador, a percorrer o
longo corredor, a penetrar na luz azulada e escura que envolvia o
hospital adormecido, fazendo soar nitidamente os meus passos,
como se caminhasse no v�cuo. Tudo estava calmo, agora, mas, por
volta das sete e meia eu estaria em m�s condi��es para uma
opera��o. Apeteceu-me internar-me no hospital, para descansar um
pouco. Tinha perdido quase dez quilos desde o primeiro dia do
internato.
Subitamente, atr�s de mim, o mundo foi estilha�ado por
fren�ticos sons de vidro e metal que embat�am um no outro.
Voltando-me, vi o interno das Urg�ncias que vinha a correr na minha
direc��o, � luz azul do corredor, agarrado ao laringosc�pio e um
tubo endotraqueal. Atr�s dele, uma enfermeira empurrava o ruidoso
carro.
- Paragem card�aca - arquejou ele, fazendo-me sinal para o
seguir. Come��mos ambos a correr, enquanto eu perguntava a mim
mesmo se seria o doente da h�rnia.
- Que andar ? - perguntei.
- Na enfermaria cir�rgica dos particulares, neste andar. - Passou
rapidamente pelo guarda-vento. Brilhava uma luz no quarto onde eu
tinha estado, e todos entr�mos, enchendo o quarto. o paciente
estava no ch�o, perto do lavat�rio. Tinha arrancado a IV do bra�o e
sa�do da cama. Estavam l� duas enfermeiras, uma delas a fazer uma
massagem card�aca. Agarrei no tabuleiro trazido pela enfermeira e
coloquei-o sobre a cama, para obter uma superficie firme para a
179
massagem.
- Ponham-no aqui - berrei, e n�s os quatro levant�mo-lo e
pusemo-lo sobre a t�bua. N�o havia pulso, nem qualquer esfor�o
para respirar. Tinha os olhos abertos, com as pupilas amplamente
dilatadas e a boca grotescamente aberta. o interno das Urg�ncias
deu uma forte pancada no peito; n�o obteve reac��o. Apertei-lhe o
nariz, coloquei a boca sobre a dele e soprei. N�o houve resist�ncia
e o peito elevou-se levemente. Continuei a respirar para dentro dele
e depois fiz sinal para trazerem o laringosc�pio, enquanto o interno
das Urg�ncias come�ava afazer uma massagem card�aca, subindo
para a cama e ajoelhando-se ao lado do paciente para o fazer. De
cada vez que ele empurrava o peito, a cabe�a do paciente saltava
violentamente.
- Pode segurar-lhe na cabe�a? - perguntei a uma das
enfermeiras. Ela tentou, mas n�o conseguiu. Entre os saltos, enfiei o
laringosc�pio na boca do homem e pela garganta abaixo. A epiglote
ora se via ora deixava de se ver. Avan�ando um pouco mais, fixei-o
e o laringosc�pio bateu-lhe contra os dentes. Nada. N�o conseguia
orientar-me nas pregas vermelhas da membrana mucosa. Retirando
rapidamente o laringosc�pio, soprei algumas vezes mais, entre as
compress�es. o interno das Urg�ncias estava a fazer umas boas
excurs�es do esterno; o esterno subia e descia cerca de cinco
cent�metros, for�ando indubitavelmente o sangue a penetrar no
cora��o. Tentei enfiar de novo o laringosc�pio, at� � epiglote, com
a ponta para cima, depois um pouco mais para baixo. A� vi, por um
segundo, as cordas vocais.
- o tubo endotraqueal. - Uma enfermeira entregou-mo. Eu n�o
tirava os olhos da garganta do homem. - Empurre-o contra a laringe -
fiz sinal para o pesco�o. A enfermeira empurrou. - Mais. - Nessa
altura, vi de novo as cordas vocais e empurrei o tubo. - o saco Ambu.
- Fixei o saco respirat�rio Ambu e observei o peito enquanto o
comprimia. Em vez de o peito subir, o est�mago inchou um pouco. -
Raios! Falhei. - Puxei o tubo para fora, coloquei de novo a boca por
cima da do paciente e soprei duas vezes mais. Depois, novamente o
180
laringosc�pio. Desta vez, tinha que o colocar. - Empurre outra vez a
laringe. - Empurrei com for�a e consegui ver as cordas vocais entre
cada compress�o. - Aguente assim. OK. Pare de comprimir.- o interno
das Urg�ncias interrompeu o ritmo por um segundo, enquanto eu
enfiava o tubo; depois recome�ou imediatamente a massagem. Com
o saco Ambu fixado e comprimido, o peito subiu um bom bocado. A
enfermeira das Urg�ncias j� tinha aplicado os contactos para o ECG
e ouvimos o blip do oscilosc�pio. N�o estava bem ligado � terra.
- Ponha o ECG no dois - disse o interno das Urg�ncias. Ficou
melhor. Eu estava a comprimir o Ambu quando chegou a enfermeira
anestesista. Tomou conta do Ambu.
- Medicut. - A enfermeira passou-me um cat�tereeuapertei-lhe
rapidamente o bra�o com um tubo de borracha. Os medicuts podem
ser complicados, especialmente quando se est� com pressa, mas
s�o muito mais r�pidos que as venostomias, porque se introduz o
medicut mesmo na veia, fazendo-o passar atrav�s da pele, em vez
de se fazer uma incis�o, como na venostomia. Fiz penetrar o medicut
no bra�o do doente e depois empurrei-o at� achar que se
encontrava na veia; felizmente penetrou sangue na seringa - mas
era apenas metade da batalha. Enpurrei o cat�ter de pl�stico um
pouco mais pela agulha, esperando que ele se conservasse dentro
do l�men da veia. Depois, retorcendo a agulha para tr�s e para
diante, tentei fazer avan�ar um pouco mais o cat�ter na veia.
Quando retirei a agulha, um pouco de sangue escuro, vermelho
acastanhado, subiu pelo cat�ter e foi cair na cama. A enfermeira
ainda estava a lutar com o tubo de pl�stico do frasco da IV. Deixei o
sangue correr; n�o tinha grande import�ncia. Depois de fixar a
extremidade do tubo ao cat�ter, vi o sangue desaparecer do
cat�ter, voltando de novo para a veia, quando a IV come�ou a
correr. Desatando o torniquete de borracha, observei a passagem e
abri por completo a v�lvula at� come�ar a correr bem. -Adesivo. -
Prendi o cat�ter ao bra�o. o ECG continuava a mostrar uma fibrila��o
r�pida mas grosseira. - Epinefrina - berrei. Pensava que um
estimulante card�aco pudesse acalmar a fibrila��o, antes de
tentarmos alter�-la electricamente para um batimento regular.
181
- Por que n�o directamente no cora��o? - sugeriu o interno das
Urg�ncias.
- Vamos tentar a IV primeiro. - Eu n�o tinha grande confian�a no
m�todo intracard�aco. A enfermeira deu-me uma seringa e disse que
continha 11000 dilu�do em 10 cc. Injectei-a rapidamente no local da
IV, atrav�s de um pequeno tubo de borracha, tendo o cuidado de
comprimir o tubo de pl�stico distal para impedir a epinefrina de
passar para o frasco da IV. - Bicarbonato - disse � enfermeira,
estendendo-lhe a m�o livre. A enfermeira deu-me uma seringa,
dizendo que continha 44 miliequivalentes. - Como vai o
bombeamento? - perguntei ao interno das Urg�ncias.
- Muito bem - respondeu ele. Injectei o bicarbonato no mesmo
local da IV - e piquei um dedo ao faz�-lo -, enfiando a agulha
atrav�s do pequeno tubo de borracha. Chupando o indicador,
observei o ECG. Come�ou lentamente a apresentar fibrila��es mais
fortes.
- Que tal se desfibril�ssemos agora? - sugeriu o interno das
Urg�ncias. o desfibrilador estava carregado. A enfermeira segurava
as placas, untadas com um pouco de condutor. Parando de bombear,
o interno das Urg�ncias segurou nas placas, colocando uma sobre o
cora��o e a outra na parte lateral do peito. - Afastem-se da cama! -
A enfermeira anestesista largou o Ambu. Z�s! o paciente deu um
salto, agitou os bra�os, e o blip do ECG desapareceu. Quando
voltou, estava na mesma. Nessa altura chegou um residente m�dico,
arquejante, e foi rapidamente posto ao corrente da situa��o.
- Suspendam 5 por cento de bicarbonato na IV e d�em-me
xiloca�na. - A enfermeira deu ao residente m�dico 50 mg de
xiloca�na. Ele passou-mos e eu injectei-os. Desfibril�mos o paciente
de novo. Efectivamente, tent�mo-lo quatro vezes antes que a
fibrila��o desaparecesse. Mas, em vez de se seguir um ritmo
card�aco normal, todos os sinais de actividade card�aca
desapareceram e o blip electr�nico do ECG ficou perfeitamente liso.
- Raios! Ass�stole - disse o residente, observando o blip.
- Epinefrina, isuprel, atropina, pacemaker: tent�mos tudo o que
182
t�nhamos. Entretanto, as pupilas do homem regressaram ao tamanho
normal, deixando de estar dilatadas como a princ�pio. Pelo menos,
isso significava que o oxig�nio estava a chegar ao c�rebro e que a
nossa massagem card�aca era eficaz.
Chegou outro interno, que se ocupou da massagem card�aca,
para que o interno das Urg�ncias pudesse regressar �s suas
fun��es, pobre diabo. Depois foi a minha vez de fazer a massagem.
- Que tal darmos-lhe c�lcio? - sugeriu o outro interno. o residen
te injectou um pouco de c�lcio. Pedi outro tubo nasog�strico, mas s�
o pude aplicar depois de o interno me substituir na massagem. N�o
havia grande coisa no est�mago do homem excepto um pouco de ar,
provavelmente o que eu l� tinha introduzido por engano, atrav�s do
tubo endog�strico mal colocado. Disse ao residente que este
paciente era o do ECG que eu tinha pedido antes. Disse-lhe tamb�m
que a radiografia do aparelho port�til se apresentava limpa, de
maneira geral.
Olhando para tr�s de mim, fiquei surpreendido ao ver o
Supercaro ali, de p�, a observar a nossa febril actividade. Suponho
que as enfermeiras lhe tivessem telefonado. N�o disse uma palavra.
o residente injectou o cora��o diversas vezes com epinefrina
intracard�aca.
Mas n�o conseguiu interromper a ass�stole, e estavam a
esgotar-se as hip�teses. Bombeando e fazendo respira��o boca a
boca, conserv�mo-nos durante mais quinze minutos, enquanto o
aparelho continuava a desenhar um tra�o cont�nuo no oscilosc�pio.
- Pronto, j� chega. Podem parar. - Era a voz do Supercaro, que
falava finalmente, depois de ter permanecido em sil�ncio durante
quase trinta minutos. As suas palavras surpreenderam-nos e n�o
conseguiram penetrar na nossa rotina, de modo que n�o par�mos
imediatamente, continuando a bombear e a soprar como se ele
nada tivesse dito.
-J� basta - repetiu ele. A enfermeira anestesista que comprimia
o saco Ambu foi a primeira a parar. Depois, o interno que estava a
fazer massagens naquela altura. Todos n�s est�vamos exaustos,
ansiosos por poder voltar para a cama, e conscientes do facto de
183
que ter�amos podido parar mais cedo se as pupilas do homem n�o
se tivessem reduzido t�o bem. A constri��o das pupilas � um dos
sinais de reanima��o; isso � que nos tinha feito continuar. Mas era
evidente que, desta vez, tinha sido um sinal falso. Por isso par�mos
e o homem morreu. o Supercaro saiu e desapareceu, corredor fora,
em direc��o ao posto das enfermeiras, onde preencheu a papelada
e telefonou aos parentes. As enfermeiras desligaram o aparelho de
ECG, enquanto eu retirava uma grande agulha intracard�aca.
Que tal �s a atingir o cora��o? - perguntei ao outro interno. -
Atingi-o a cem por cento, mas s� em duas tentativas - respondeu
ele.
- Eu s� consigo cinquenta por cento - confessei. - Depois de fixar
uma seringa de 10 cc � agulha, dirigi-me ao paciente e procurei a
estria transversal, chamada �ngulo de Louis, mais ou menos a meio
do esterno. Isto orientou-me em rela��o � caixa tor�cica. A agulha
entrou facilmente e, quando puxei o �mbolo, a seringa encheu-se de
sangue. Em cheio.
- Acho que o meu problema tem sido estar a usar o terceiro
interespa�o - arrisquei. Tentei de novo, desta vez no terceiro
interespa�o, e, quando puxei o �mbolo, n�o veio sangue. - � isso
mesmo. OK � a tua vez. - Entreguei-lhe a seringa, e ele atingiu o
cora��o � primeira tentativa.
Retirei o tubo endotraqueal do morto, limpando o muco espesso
da ponta ao len�ol, onde deixou um rasto cinzento.
- Este tipo era realmente dif�cil para se introduzir o tubo
endotraqueal. Queres experimentar? - Segurando cuidadosamente o
tubo entre o polegar e o indicador, apresentei-o ao outro interno.
Eu j� era bastante bom a entubar, naquela altura, porque tinha
decidido, nos �ltimos meses, praticar sempre que t�nhamos um caso
de reanima��o falhada como aquele, o que acontecia com bastante
frequ�ncia. Ele pegou no laringosc�pio e introduziu-o. Disse que n�o
conseguia ver coisa alguma. Espreitei por cima do seu ombro e
percebi que ele n�o estava a comprimir suficientemente com a ponta
da l�mina.
184
- Levanta at� teres a impress�o de que vais deslocar o maxilar.
o bra�o dele estremeceu, ao esfor�ar-se. Ainda havia qualquer coisa
errada. - Deixa-me tentar. - Retirei o aparelho e depois, com a m�o
direita, empurrei-o pela laringe. As cordas vocais ficaram � vista. -
Ele tem um �ngulo bastante obl�quo, aqui. Experimenta outra vez,
mas comprime um pouco mais a laringe. - A enfermeira veio
espreitar, dizendo que precisava do laringosc�pio para poder
devolver o carrinho �s urg�ncias. Com um gesto da m�o, fi-la
aguardar mais uns segundos, enquanto espreitava por cima do
ombro do outro interno. Ouvi-o emitir um som de satisfa��o, ao ver
finalmente as cordas vocais. Depois, afastando-se, entregou o
laringosc�pio � enfermeira, que produziu um som de desaprova��o.
Subitamente, encontrei-me s�, enquanto toda a actividade se
afastava, como numa sombria prociss�o, para outros pontos de
hospital. Voltei a perguntar a mim mesmo se deveria ir para casa de
Karen ou para o meu quarto. Sent�a-me solit�rio, especialmente
porque o homem tinha morrido. Eu fora uma das �ltimas pessoas a
v�-lo vivo. Mas eu tinha feito tudo o que podia - todos n�s t�nhamos
- e achava que nos t�nhamos esfor�ado bastante. Al�m disso, o
Supercaro obrigara-me a retirar o tubo nasog�strico e a dar-lhe um
medicamento qualquer. Portanto, a culpa n�o era miinha, embora,
provavelmente, ele pensasse que era. Sem d�vida poria a culpa em
todos aqueles testes dispendiosos. Esse era um dos problemas com
os doentes particulares. Eu estava dispon�vel para observar o
paciente, mas n�o tinha verdadeira responsabilidade, ao passo que
o m�dico assistente tinha a responsabilidade final, mas n�o se
encontrava presente. Isso tornava a minha posi��o amb�gua, para
n�o dizer mais. Era tudo complicado de mais para as 4 horas da
madrugada. Mas eu ainda sentia curiosidade quanto � �ltima
injec��o do Supercaro. A enfermeira tinha dito que era um sedativo.
Se voltasse atr�s para consultar a ficha, iria ver o cretino outra vez,
e provavelmente ainda teria que ouvir coment�rios sobre as
contagens sangu�neas dispendiosas. Mas, enquanto seguia pelo
corredor, decidi correr o risco.
185
o Supercaro j� se tinha ido embora. Foi um al�vio; e era tamb�m
uma indica��o do seu interesse pelo ensino. Seconal, era o que
dizia a ficha. Nada acrescentava ao que eu j� sabia. Relendo a
hist�ria, constatei que o homem nunca tinha tido problemas
card�acos. o est�mago e os rins tamb�m estavam normais. Depois li
que a h�rnia era enorme, do tipo de bola de basquetebol; mas isso
tamb�m n�o explicava o que sucedera. Algo lhe tinha provocado
falha respirat�ria que acabara por levar � falha card�aca. A
disten��o g�strica que eu tinha aliviado deveria ter contribu�do
para o problema, mas n�o o tinha causado. Seria da anestesia?,
pensei. Voltando-me para o relat�rio da anestesia, verifiquei que
tinha sido feita indu��o de pentotal, e �xido nitroso para
manuten��o, sem complica��es. Esforcei-me em v�o para unir todas
as pe�as soltas, mas n�o consegui orientar-me no labirinto. Estava
excessivamente extenuado. o melhor era voltar depressa para a
cama, pensei cinicamente, de modo a estar l� quando a telefonista
ligasse para me acordar e recome�ar a trabalhar. Muito engra�ado.
Mas foi mesmo uma p�ssima noite de ter�a-feira. As noites de
ter�a-feira eram geralmente activas, como as noites de segundafeira,
visto que tanto a segunda-feira como a ter�a-feira tinham
sempre programas operat�rios, e isso significava muitos problemas
nocturnos de mudan�as de pensos, dores e drenos; no entanto, eu
costumava conseguir dormir um pouco. Desta vez, n�o; mal tinha
encostado a cabe�a � almofada, o telefone soou de novo. Era da
Cirurgia; estava a chegar um caso para amputa��o e precisavam de
mim como assistente.
Havia, para mim, algo especialmente deprimente numa
amputa��o, especialmente de uma perna. Uma apendicectomia ou
uma colecistectomia ou qualquer outra opera��o interna deixavam a
pessoa exteriormente intacta. Mas levantar um p� e uma perna da
mesa de opera��es e separ�-los da pessoa a quem tinham
pertencido era um acto de altera��o irrevers�vel. Por muito estafado
que me sentisse, nunca consegui olhar para a extrac��o de um
membro humano como para os outros processos m�dicos.
Mas tinha de ser feito. Por isso levantei-me de novo, com a mais
186
total falta de motiva��o, e arrastei-me para a Cirurgia. Toca a enfiar
o fato esterilizado e a p�r a touca e a m�scara. Depois de esta
�ltima estar colocada, puxei-a para baixo, deixando osfios atados, e
observei-me no espelho. Quase nem reconheci o rosto devastado
que me fitava.
Felizmente, quando cheguei � sala de opera��es, soube que
n�o se tratava de uma amputa��o, mas de uma tentativa de salvar
uma perna, cujo joelho tinha sido esmagado por um cami�o. Apenas
o nervo e a veia estavam intactos, atravessando o intervalo onde se
tinha situado o joelho. A art�ria, os ossos - tudo tinha
desaparecido. Com surpresa minha, encontrei l� dois cirurgi�es
particulares, ambos excelentes em casos vasculares. Perguntei se
seria necess�rio, uma vez que eles eram dois, e eles responderam
"Talvez". Isso n�o me deixou outra alternativa al�m de me esterilizar
e vestir a bata e cal�ar as luvas esterilizadas.
A minha tarefa consistia em colocar-me ao fundo da mesa,
voltado para o anestesista, e segurar o p�, de modo a ficar r�gido,
segurando-o com as duas m�os. Ambos os cirurgi�es,
evidentemente, tinham de estar perto do meu extremo da mesa para
trabalhar no joelho. Mas estavam de costas para mim, como
habitualmente - em especial o que se encontrava � minha esquerda,
inclinado sobre a mesa. Eu n�o via absolutamente nada. o rel�gio �
minha direita marcava 5 horas, na altura em que a opera��o
come�ou a desenrolar-se, Pela conversa deles, deduzi que estavam
a fazer um enxerto da art�ria principal que passa por detr�s do
joelho em direc��o ao p�. Uma hora passou-se t�o lentamente
quanto uma hora pode passar-se, enquanto o ponteiro dos minutos
se arrastava pelo mostrador do rel�gio. Eles aplicaram o enxerto e
surgiu uma pulsa��o no p�, que desapareceu de novo ao fim de
alguns minutos. Isso queria dizer que os cirurgi�es tinham que abrir
o enxerto e retirar um co�gulo que acabara de se formar. Obtiveram
outra pulsa��o, que tamb�m desapareceu. Outro co�gulo. Abrir
outra vez. Co�gulo. E o processo foi-se arrastando indefinidamente.
Eu estava absolutamente espantado com a calma persist�ncia e
187
paci�ncia deles.
Sem ter que fazer, al�m de olhar para o rel�gio e ficar ali
parado, com as m�os sempre na mesma posi��o, comecei a ficar
incontrolavelmente sonolento. o som das vozes dos cirurgi�es
come�ou a entrar e a sair da minha cabe�a, juntamente com a
imagem da sala. Apenas semiconsciente, esforcei-me ao m�ximo
para me manter acordado, mas perdi; adormeci a segurar no p�. N�o
ca� para o ch�o. A minha cabe�a foi descaindo lentamente, at� que
a testa foi embater levemente no ombro do cirurgi�o � minha
esquerda. Isso fez-me acordar, t�o pr�ximo do tecido da bata, que
podia ver o cruzamento de cada fio. o cirurgi�o olhou para tr�s e
endireitou-me com a ponta do cotovelo. Por cima da m�scara, uns
frios olhos azuis fitaram-me com n�tida desaprova��o. Eu j� n�o me
ralava, mas o incidente serviu para me manter acordado, porque
tinha reavivado a minha f�ria latente.
Eram oito da manh� e l� estava eu, depois de uma noite sem
dormir, com um hor�rio completo de opera��es � minha frente,
ainda de p� e a segurar aquele p� como um peso morto. Era uma
tarefa para sacos de areia. Na verdade, os sacos de areia teriam
feito um trabalho melhor; n�o adormecem nem se enfurecem. N�o
era a primeira vez que eu adormecia na sala de opera��es. Certa
vez, ao prestar assist�ncia a um caso de tir�ide, depois de uma
noite em claro, tinha adormecido a segurar os retractores. Apenas
por um instante, penso eu, porque subitamente tinha tido um
daqueles estic�es que se experimentam ao adormecer, o que
assustou o cirurgi�o. Ele perguntara-me, em parte por brincadeira,
se eu ia ter um ataque epil�ptico. Mas n�o creio que tivesse
percebido que eu tinha adormecido. Mas este tinha, e estava
irritado, embora ele e o seu colaborador continuassem a ignorar-me.
Finalmente, depois de terminada a interven��o e quando eu mo
preparava para sair, o cirurgi�o chamou-me.
- Bom, Peters, se adormecer durante uma opera��o indica o seu
interesse pela cirurgia, acho que o caso deveria ser levado �
aten��o da direc��o. - Em vez de lhe dizer que fosse para o diabo,
188
recuei e aleguei falta de sono e n�o ter conseguido ver o campo
operacional. N�o ficou impressionado. - Acho conveniente que isto
n�o volte a repetir-se.
- N�o senhor. - Sa�, abrigando pensamentos assassinos e pouco
pr�ticos.
o hor�rio regular das interven��es cir�rgicas tinha principiado
mais de uma hora antes. Na realidade, eu tinha perdido o meu
primeiro caso, o que n�o me incomodou muito. Era o trabalho de um
segundo assistente numa colicistectom�a, um caso de rotina total.
Al�m disso, tinha mais dois casos iguais nessa tarde, Saindo
subrepticiamente da sala dos cirurgi�es, fui comer umas fatias de
p�o, o meu primeiro alimento em cerca de quinze horas. Quanto a
sono, n�o estava melhor - uma hora nas �ltimas vinte e seis. Sentiame
um pouco fraco. A ideia de outro dia inteiro na sala de
opera��es n�o era animadora.
Na sala, fui abordado por um residente chefe irritado que exigiu
saber onde eu tinha estado durante as rondas. Logo desde o in�cio,
um interno aprende a impossibilidade de agradar a toda a gente.
Ultimamente, por�m, eu perdia todas e n�o conseguia agradar a
pessoa alguma, e muito menos a mim pr�prio. Fiz ao residente chefe
um relat�rio dos poucos pacientes que tinha. Dado que estava no
servi�o de ensino privado, n�o tinha muitos pacientes exteriores -
apenas aqueles em cujas opera��es tinha colaborado. Ambas as
h�rnias estavam a progredir bem; as gastrectomia j� principiara a
comer; as varizes estavam bem e j� andavam; e nenhuma das
hemorr�idas tinha movimentado os intestinos. As doen�as
desfilaram verbalmente diante de mim, sem as ligar a nomes ou
pensamentos pessoais.
Quase me esqueci de mencionar o doente do aneurisma, para
quem t�nhamos marcado uma a ortografia para esse dia. Tinha-nos
sido aviado de uma das ilhas exteriores, porque a sua radiografia
apresentava uma sombra suspeita no campo do pulm�o esquerdo.
Era provavelmente um aneurisma, uma protuber�ncia na art�ria
principal. Sem uma interven��o cir�rgica, um aneurisma destes
costuma rebentar ao fim de seis meses, mais ou menos, e o doente
189
sofre uma hemorragia fatal. Por isso, era importante actuar
rapidamente, e ter a certeza do diagn�stico, o que poder�amos
fazer por meio de um aortograma. Este procedimento relativamente
simples tinha lugar nos raios-X, onde um corante opaco seria
injectado na art�ria do homem, mesmo acima do cora��o. Por alguns
momentos, antes que o sangue o varresse, o corante delinearia a
forma da art�ria, e as radiografias feitas em r�pida sequ�ncia
captariam a imperfei��o. S� ent�o poder�amos saber se a opera��o
seria ou n�o necess�ria. Dado que eu tinha elaborado a hist�ria e
feito o exame f�sico do homem, queria estar presente, e pedi-o ao
residente chefe.
- Claro - disse ele -, se o hor�rio das opera��es permitir. Essa
parte do sistema n�o se tinha modificado durante os �ltimos nove
meses. N�s, os internos, continu�vamos a ser atirados para tr�s e
para diante entre os casos, abandonados aos caprichos do hor�rio
cir�rgico; era frequente n�o podermos ver os nossos doentes.
Quando se come�a a trabalhar com um doente, dever-se-ia
acompanh�-lo durante todos os processos de diagn�stico e durante
a opera��o. Ningu�m poderia argumentar contra isso, quer do ponto
de vista acad�mico, quer do ponto de vista do bem do pr�prio
paciente. N�o obstante, sempre que algu�m precisava de mais um
par de m�os numa extrac��o da ves�cula (os nossos c�rebros, ao
que parecia, nunca eram necess�rios), �ramos sacrificados, sem ter
em considera��o o aspecto educativo ou o efeito psicol�gico sobre
os nossos pacientes. Era mais uma maneira de nos fazerem ver como
�ramos dispens�veis.
o residente chefe desapareceu e, alguns minutos depois, recebi
um telefonema da cirurgia, dizendo-me que ele me tinha marcado
para fazer uma gastrectomia que j� estava a realizar-se.
Aparentemente, eram precisas as tais m�os extra. Terminei o meu
p�o duro e arrastei-me uma vez mais para a �rea da cirurgia,
fazendo mentalmente um mapa do resto do dia na sala de
opera��es. Depois daquela gastrectomia, estava marcado para uma
nefrectomia - uma extrac��o de um rim - na Sala 10, e depois para
190
duas colecistectomias. Quando passei pela Sala 10, constatei que a
nefrectomia j� estava em curso e eu iria perd�-la. Nakano, um outro
interno, estava a esterilizar-se. Um rapaz de sorte. Aquela
nefrectomia era muito mais interessante para mim que todos os
outros casos juntos. o doente tinha um tumor no rim e o tumor tinha
de ser extra�do, embora n�o fosse maligno. At� h� pouco tempo, um
cirurgi�o com um caso desses teria sido for�ado a extrair o rim
inteiro; actualmente, com o progresso da radiologia, esses tumores
podiam ser "mapeados" com grande exactid�o, de modo que apenas
se extra�a a parte afectada. Ali, bom, ficava para outra vez.
Continuei a avan�ar pelo corredor, em direc��o � gastrectomia.
Normalmente ficaria desanimado com a ideia de duas
colecistectomias seguidas. Mas, naquele dia, estava com um pouco
de sorte, porque estavam ambas marcadas com um cirurgi�o que
sabia ensinar. Aquele homem era como um o�sis num deserto de
conservadorismo. Evidentemente, havia sempre a hip�tese de a
gastrectomia a que eu ia estar presente ultrapassar a primeira
colecistectomia com o cirurgi�o docente. Tinha esperan�as de que
isso n�o sucedesse.
Mal reparando na actividade que me circundava, dirigi-me
lentamente para a Sala 4, sem pressas, for�ando-me a avan�ar. Uma
olhadela para a lista de opera��es colocada no quadro de afixa��o
aumentou o meu des�nimo. Como o Supercaro, aquele m�dico de
cl�nica geral era um homem de avan�ada idade, pouca habilidade e
destitu�do de mod�stia. Era tamb�m dado a contar hist�rias
intermin�veis e egocentristas sobre os seus feitos nos velhos
tempos. Ao que parecia, tinha, durante anos, transportado sobre os
ombros o fardo de todo o servi�o m�dico americano,
desempenhando feitos de capacidade e resist�ncia que faziam
perder a cabe�a a quem o ouvia. Pelo menos a dele j� tinham feito.
Um residente brincalh�o tinha-lhe dado a alcunha de H�rcules, e o
nome pegara. H�rcules era um dos tais que internava sempre os
seus pacientes no servi�o de aprendizagem, para que os internos
elaborassem as hist�rias dos pacientes e fizessem os exames f�sicos
191
por ele. Se algum solicitasse uma radiografia ou mesmo uma
contagem de sangue extra, trepava pelas paredes, censurando-o
pela extravagante utiliza��o de dispendiosos testes laboratoriais.
Aparentemente, 99 por cento dos testes laboratoriais tinham sido
desenvolvidos depois de ele se ter licenciado em Medicina, mais ou
menos na �poca em que os Curie come�avam a brincar com a
uraninite. Al�m disso, tinha o h�bito de receitar penicilina ou
tetraciclina para cada constipa��o que aparecia nas Urg�ncias - um
processo que praticamente todas as autoridades m�dicas
consideram pior que nada fazer. o facto de ele dever ser
considerado como um professor era uma piada de mau gosto.
J� tinha prestado assist�ncia a H�rcules, alguns meses antes, na
extrac��o de um c�lculo renal. Nessa altura, ele tinha acabado de
ler, pelo menos era o que afirmava, um artigo recente que
recomendava �ma nova maneira de extrair c�lculos dos rins. Eu
duvidava muito de que H�rcules fizesse leituras profundas ou
frequentes, mas aquele artigo tinha-o intrigado - embora n�o
conseguisse recordar-se dos nomes nem da revista nem do autor do
artigo, nem sequer do local onde a experi�ncia tinha sido feita.
Enquanto trabalhava no rim, alimentando as no��es do tal processo
novo, ia mantendo o seu h�bito de cortar art�rias
indiscriminadamente e depois recuar e dizer "Trata, dessa
hemorragia, meu rapaz", sem interromper, praticamente, o que
estava a contar. o residente tratava da incis�o, aplicando a esponja
de gaze e os hemost�ticos, enquanto o cirurgi�o pontificava.
Aquele novo m�todo de H�rcules para o rim implicava a
aplica��o de uma sutura cr�mica 2-0 - um fio bastante grosso -
atrav�s do rim e depois, segurando a sutura de ambos os lados e
manipulando-a um pouco como se fosse umafaca mal afiada, ir
serrando o rim. Isto deveria reduzir a hemorragia. o processo
pareceu-me um pouco estranho e excessivamente simplista.
Constatei que o meu cepticismo era saud�vel. H�rcules tinha-se
esquecido de um ponto vital, que o artigo repetidamente
sublinhava: antes de "serrar" com a sutura, o cirurgi�o deveria
adquirir o controlo do ped�culo renal - a fonte de sangue do rim - de
192
modo que a passagem de sangue atrav�s daquele �rg�o fosse
interrompida. Pois bem, o nosso temer�rio inovador mergulhou de
cabe�a, nada fazendo para controlar o afluxo sangu�neo, serrando
descontraidamente o rim, "para reduzir ahemorragia". o resultado foi
a pior hemorragia descontrolada que j� vi numa sala de opera��es -
excepto numa ocasi�o em que o cat�ter auricular direito de um
aparelho card�aco-pulmonar se desprendeu do doente. Mas isso foi
um acidente leg�timo. o desastre do rim n�o. o sangue dos vasos do
rim encheu imediatamente a incis�o, transbordando e encharcando a
mesa de opera��es e a equipa operat�ria. Come��mos a introduzir
sangue no operado atrav�s de uma IV, como num po�o sem fundo.
Ao fim de quatro litros, t�nhamos finalmente aplicado pin�as no rim,
feito uma suc��o suficiente para permitir a extrac��o do c�lculo e
feito enormes suturas no c�rtex renal. Dado que o corpo humano
cont�m apenas cerca de seis litros de sangue, t�nhamos
praticamente esvaziado o homem, para o voltar a encher. Est�vamos
todos bastante assustados. At� o anestesista - normalmente num
outro mundo, por detr�s da cortina de �ter, com um olho no
respirador autom�tico e ambas as m�os no jornal - estava
perturbado.
Naturalmente, eu n�o estava muito entusiasmado com a ideia
daquela gastrectomia com H�rcules, que j� via l� dentro a trabalhar
enquanto me esterilizava. Tinha esperan�as de que ele n�o tivesse
andado a ler mais artigos. Estava l� um residente chamado O'Toole,
mas n�o se viam internos. Quando entrei, rendendo-me, constatei
que a atmosfera n�o era muito boa.
- Quero uma pin�a decente - berrou H�rcules � enfermeira,
enquanto atirava um por cima do ombro contra a parede de azulejos
brancos. -Peters, venhaj� para aqui. Como � que se h�-de operar
sem ajuda? - Alguns dos cirurgi�es estavam habituados a isso. Na
maior parte do tempo, portavam-se como crian�as petulantes,
especialmente no que se referia aos instrumentos, que gostavam de
atirar fora indiscriminadamente e utilizar de formas inesperadas -
como, por exemplo, cortar arame com a tesoura de dissec��o.
193
Todavia, quando lhes entregavam um desses instrumentos, que eles
pr�prios poderiam ter estragado, tinham ataques de f�ria,
atribuindo a culpa de todos os fracassos recentes � falta de
equipamento adequado. Ningu�m falava destas explos�es. Ao fim
de algum tempo, habitu�vamo-nos a elas.
Quando me aproximei de H�rcules, ele fixou-me as m�os em
volta de dois retractores e disse-me que levantasse, n�o puxasse
para tr�s. Uma frase que j� era habitual. Na verdade foi poss�vel
faz�-lo, porque nada havia para retrair naquele momento. o
est�mago, em que H�rcules estava a trabalhar, encontrava-se
mesmo ao cimo da incis�o, bem � vista. Ele necessitaria de
retrac��o mais tarde, quando fizesse a liga��o da bolsa do
est�mago com o in�cio do intestino, chamado duodeno. Esperava
fervorosamente que elej� tivesse cortado os nervos do est�mago
que s�o parcialmente respons�veis pela secre��o dos �cidos. Esses
nervos do vago envolvem o es�fago e, para que o cirurgi�o os
possa cortar, o interno tem de segurar a caixa tor�cica; eu detestava
essa retrac��o.
L� estava eu de novo no meu posto da sala de opera��es, a
olhar para um ponteiro dos minutos que parecia colado ao rel�gio.
Enquanto lutava para me manter acordado, ficava com os olhos
desfocados depois de cada bocejo, e sentia uma incontrol�vel
comich�o no nariz, do lado esquerdo, um pouco abaixo do olho,
como se estivesse a ser atacado por um subtil e s�dico insecto.
A posi��o da minha m�scara era outra tortura subtil. De cada vez
que eu bocejava, descia um pouco, talvez um cent�metro. Ao fim de
cinco bocejos, caiu por completo do nariz e ficou apenas a cobrir-me
a boca. Isto fez entrar em ac��o a enfermeira circulante. Colocou-se
ao meu lado e levantou a m�scara, tocando-lhe com muito cuidado,
de modo a evitar tocar na minha pele, como se toda a minha cara
fosse infecciosa. Desejando aliviar a comich�o, tentei diversas vezes
tocar com o nariz na m�o dela, enquanto ajustava a m�scara. Mas
ela era mais r�pida que eu, e afastava a m�o sempre que estava
quase a tocar no meu nariz.
H�rcules estava mais nervoso e confuso do que habitualmente.
194
Em volta da mesa, ningu�m conseguia imaginar qual seria o seu
movimento seguinte. Felizmente eu estava imobilizado pelos
retractores, pelo que n�o se esperava de mim qualquer contribui��o,
mas o pobre O'Toole parecia um rato num labirinto, chamado a
desempenhar imposs�veis feitos de antecipa��o.
- O'Toole, est� a trabalhar comigo ou contra mim? Segure-me
nesse est�mago! - Enquanto fazia esta pergunta ret�rica, H�rcules
aplicou na m�o esquerda de O'Toole uma forte pancada com a
tesoura Mayo. O'Toole rangeu os dentes e ajustou a posi��o do
est�mago.
- Pelo amor de Deus, Peters, nunca aprendeu a fazer retrac��o? -
Agarrou-me no pulso pela sexta vez, para reajustar os retractores,
embora isso nada tivesse a ver com o que ele estava a fazer
naquele momento. Na verdade, eu n�o era necess�rio; mas ele
queria que eu estivesse ali. Era como muitos cirurgi�es, que se
sentem diminu�dos quando n�o s�o assistidos por um residente e
um interno, independentemente de serem ou n�o necess�rios. Eu
era um s�mbolo da sua posi��o.
H�rcules tinha dado a volta, de modo que estava a olhar para as
suas costas quando come�ou a aplicar a segunda camada de suturas
na bolsa do est�mago. N�o via nem o campo operat�rio nem as
minhas m�os.
o anestesista disse subitamente.
- Peters, por favor n�o se incline sobre o peito do paciente. Est�
a comprometer a ventila��o. - Empurrou-me para tr�s para que n�o
impedisse a linha intravenosa. Mas eu n�o tinha para onde ir, pois
j� estava quase encostado a H�rcules.
Nessa altura O'Toole recuou abruptamente com uma express�o
assustada no rosto, erguendo a m�o direita. Vi algumas gotas de
sangue que escorriam de um corte feito na luva de borracha, na
parte lateral do dedo indicador.
- Se tivesse o dedo onde devia estar, isso n�o tinha acontecido,
O'Toole. Vamos a acordar - berrou H�rcules.
O'Toole ficou em sil�ncio, voltando-se para a enfermeira, que
195
lhe enfiou outra luva. Penso que se sentia grato por ainda ter o
dedo.
Apesar de tudo o cirurgi�o conseguiu terminar, e come��mos a
fechar. Uma das minhas tarefas consistia em irrigar com uma seringa
de p�ra depois de a forte camada fascial fibrosa da parede
abdominal ter sido fechada com suturas de seda a cerca de meio
cent�metro de intervalo. O'Toole e eu, nessa altura,j� come��vamos
a divertir-nos e, enquanto H�rcules lavava a m�o, levantei a seringa
daferida, porcima do paciente, e projectei um jacto da quente
solu��o salina para o outro lado da mesa, atingindo O'Toole no
est�mago. Os nossos olhos fitaram-se, compreendendo-se; �ramos
parceiros numa situa��o infeliz.
Voltando para junto de n�s, H�rcules mostrou-se subitamente
jovial. Era �bvio que pensava ter novamente realizado o imposs�vel.
- � uma pena que a minha arte fique oculta por debaixo da pele,
em vez de o doente a poder ver. Ele s� tem para mostrar uma
pequena incis�o. - O'Toole revirou os olhos, fingindo-se aflito.
Dado que O'Toole e H�rcules estavam a acabar, chamei a mim
toda a minha coragem, para poder sair.
- Tenho v�rias opera��es a seguir, Doutor. Poderia dispensar-me
agora? - Isto irritou um pouco o velhote, mas libertou-me com um
gesto de noblesse oblige.
Para come�ar, cocei o nariz, durante longo tempo e com for�a,
numa experi�ncia sensual. Depois urinei, o que foi igualmente
satisfat�rio. Eram onze e vinte cinco, e, dado que o paciente da
nefrectomia estava a sair da Sala 10, tinha alguns minutos enquanto
a sala era preparada para a primeira das minhas colecistectomias.
Ali perto, � porta da sala de recupera��o, vi Karen, o meu anjo de
miseric�rdia e sexo, imaculada no seu uniforme branco. Tinha vindo
buscar um paciente para a enfermaria e, quando me viu, dirigiu-me
um amplo sorriso, perguntando-me, com um toque de sarcasmo, se
eu tinha dormido bem nessa noite. Disse-lhe que fosse simp�tica, se
n�o, numa destas noites, a atiraria para fora da cama. Olhando em
volta, mandou-me calar, acrescentando que tinha dito ao namorado
196
que n�o queria sair nessa noite; estaria em casa, provavelmente a
partir das onze, caso eu estivesse livre. Arquivei a informa��o, mas
n�o me parecia que fosse poss�vel fazer alguma coisa.
o meu aneurisma tinha sido marcado para o aortograma �s onze
e quinze, e desci para ver o que estava a suceder. Entrando na sala
de fluoroscopia, vi que o residente chefe estava nos preparativos
finais para iniciar o estudo.
- Chegou dez minutos atrasado, Peters. Poderia ter-me ajudado
a meter o cat�ter no bolbo a�rtico.
- E eu teria vindo, se n�o fosse uma opera��o. - Evitei
conscientemente dizer "gra�as a si".
- Bom, c� est� a posi��o do cat�ter. Ponha um avental forrado
de chumbo. Esta fluoroscopia emite uma data de radia��es. Tem de
proteger as suas g�nadas.
Seguindo o conselho, peguei num dos pesados aventais e
coloquei-o. Pondo-me atr�s do residente chefe, podia ver o ecr�.
Quando as luzes se apagaram, o fluorosc�pio entrou
automaticamente em fUncionamento com um estalido sonoro. A
imagem era extremamente fraca, como habitualmente. Para se ver
bem uma fluoroscopia, � preciso adaptar os olhos, usando �culos de
lentes vermelhas durante cerca de trinta minutos antes. N�o
conseguia ver muito bem o aneurisma do meu paciente no ecr�,
porque n�o tinha tido possibilidade de preparar a vis�o, mas
conseguia distinguir a pesada tira r�dio-opaca do cat�ter.
- C� est� a ponta do cat�ter. - O dedo apontado do residente
chefe recortou-se contra a luz do ecr�. - Est� na aorta, mesmo acima
do cora��o. N�o a v� saltar a cada contrac��o? - Isso conseguia eu
ver sem dificuldade. - Agora vamos injectar o corante opaco na
art�ria, para obtermos uma imagem e, para o fazer, teremos de usar
o injector de press�o. - Indicou-me um pequeno aparelho que
parecia uma bomba de bicicleta deitada de lado.
Tinha tr�s ou quatro v�lvulas de fecho na extremidade - eu
achava que uma ou duas teriam bastado para prevenir um acidente.
- Basta-nos empurrar esta alavanca, que projecta o corante
rapidamente para o cora��o, a cerca de 400 psi. Ao mesmo tempo,
197
a c�mara Schonander dispara � m�dia de uma radiografia em cada
meio segundo, durante dez segundos. N�s vamos observando no
ecr� de fl�or.
o residente chefe passou para os preparativos finais, falando
pelo telefone com os t�cnicos de raios-X, para se certificar de que
eles estavam a postos, e foi colocar-se por detr�s do bra�o do
injector de press�o. Desejando toda a protec��o que fosse poss�vel
obter, meti-me por detr�s da protec��o de chumbo com o t�cnico de
raios-X, que era bastante robusto. Observ�mos atrav�s da janela de
quartzo.
A um grito do residente chefe, o t�cnico de raios-X p�s em ac��o
a c�mara Schonander, que engrenou imediatamente, tirando
radiografias sucessivas, enquanto o residente chefe comprimia o
injector de press�o at� ao fim. o corante correu do injector para as
v�lvulas e a�, em vez de ser projectado para o cora��o do paciente,
ergueu-se num geyser gracioso at� ao tecto, onde foi embater,
correndo um pouco ao longo dele antes de come�ar a pingar sobre o
residente chefe, o paciente e toda a maquinaria. o residente chefe
tinha-se esquecido de abrir a �ltima v�lvula. Quanto ao paciente,
ficou a pestanejar, olhando em volta, tentando perceber que
estranho teste seria aquele. o residente chefe ficou num estado de
choque que come�ou a transformar-se rapidamente em exaspera��o.
Dado que seria necess�rio recome�ar todo o processo e eu j� estava
um pouco atrasado para a colecistectomia, aproveitei a
oportunidade para fazer uma sa�da inconsp�cua e corri para o bloco
operat�rio.
Trabalhar com um verdadeiro profissional � muito diferente, sob
todos os aspectos, de prestar assist�ncia a um H�rcules ou a um
Supercaro, e o Dr. Simpson era o melhor que o hospital tinha. Com o
residente de um lado e eu do outro, esteriliz�mo-nos os tr�s, a
conversar e a brincar. Simpson contou-nos a hist�ria de um professor
da Col�mbia que tinha descoberto uma maneira de criar vida no
laborat�rio. Corria tudo bem at� a mulher o apanhar.
Uma piada simples - talvez, pensando bem, nem sequer muito
198
boa. Mas, no contexto das horas passadas com H�rcules, da imagem
do corante a espalhar-se pelo tecto da sala de fl�or, e do meu
cansa�o, aquela piada fez-me rir quase histericamente. Ainda
est�vamos os tr�s a rir quando entr�mos na sala de opera��es,
onde o ambiente se modificou imediatamente, passando para
simp�tica concentra��o. Prontos para trabalhar, conserv�vamos
ainda num tom ligeiro, mas, n�o obstante, intensamente
interessado na tarefa que nos aguardava.
A enfermeira entregou um bisturi a Simpson. Foi interessante a
maneira como ele iniciou a opera��o. N�o houve pausa. o bisturi foi
empunhado e produziu imediatamente um corte perfeito no
abd�men. N�o houve paragens para deter as hemorragias com
hemost�ticos.
- Para qu� andar por a� a esgravatar como uma galinha? - diria
ele, ao terminar rapidamente a incis�o, com o mesmo gesto
decidido e seguro, enquanto os tecidos se abriam. Depois, o
residente segurou os tecidos do seu lado e o cirurgi�o do outro,
usando ambos forceps dentados, e, com mais um r�pido golpe do
bisturi, chegaram ao abd�men. S� ent�o algumas hemorragias foram
tratadas. N�o mais de tr�s minutos da pele � cavidade peritoneal.
Perfeito.
Desta vez, por�m, Simpson n�o fez o primeiro corte.
Surpreendeu-nos, entregando o bisturi ao residente.
-A vesicula � sua - disse.-Um movimento em falso e ponho-o a
dar clisteres durante um m�s. - Sob seu olhar experiente, foi feito o
mesmo tipo de incis�o, mais ou menos � mesma velocidade. o
cirurgi�o explorou rapidamente o interior, depois o residente e eu
em seguida.
Est�mago, duodeno, f�gado, ves�cula biliar (pude sentir os
c�lculos), ba�o, intestinos. o exame foi cauteloso mas completo;
quando se tem o bra�o mergulhado at� ao cotovelo no abd�men de
algu�m, h� tend�ncia para se ser cauteloso. Disse a Simpson que
estava a ter dificuldade em encontrar o p�ncreas. Ele explicou-me
um ponto de refer�ncia e um volume. Encontrei-o logo.
199
Utilizando a t�cnica de Simpson, o residente colocou
cuidadosamente as toalhas brancas ensopadas em solu��o salina
que s�o usadas para separar a ves�cula biliar da massa intestinal.
Eu recebi os habituais retractores. Por sugest�o de Simpson, o
residente deslocou-se um pouco, para eu poder ver a incis�o. Tudo
decorreu normalmente com encorajamentos mas sem a assist�ncia
manual de Simpson. A ves�cula biliar saiu perfeitamente, a base foi
fechada, e em seguida a pele, tudo em trinta minutos. Sentindo-me
bem agora, felicitei o residente, a caminho da sala de recupera��o.
Ele tinha feito um trabalho de profissional.
Com trinta minutos entre casos, Simpson e eu descemos para ver
alguns dos nossos doentes, um dos quais, uma gastrectomia, eu
estava a seguir de perto, depois de ter ajudado � opera��o. Tinhame
sido atribu�da a responsabilidade total de prescrever para
aquele caso, embora eu tentasse seguir as prefer�ncias de Simpson
que, sab�a-o j�, eram seguras e sensatas. Quando alterava uma das
minhas ordens, como sucedeu uma vez por outra, escrevia
invariavelmente uma pequena explica��o, uma opini�o sobre um
determinado medicamento ou processo. Era um professor nato.
Depois da nossa visita � enfermaria, vestimos novos fatos
esterilizados e come��mos a esterilizar-nos de novo, da mesma
maneira alegre, desta vez sem histeria da minha parte. Depois de
reflectir, resolvi, desta vez, desinfectar-me com Betadine; o seu tom
amarelo p�lido sempre era uma varia��o, depois do pHisoHex
incolor que geralmente utiliz�vamos. Ao entrar na sala de
observa��es, apercebemo-nos da habitual rotina hier�rquica. A
primeira toalha foi entregue a Simpson, a segunda ao residente e a
terceira a mim. o mesmo se passou com as luvas.
Enquanto rode�vamos o paciente, a enfermeira entregou um
bisturi a Simpson e, para meu grande espanto, ele entregou-mo.
- OK, Peters. Extra�a aquela ves�cula, e extraia-a � primeira,
sen�o tiro-lhe a sua sem anestesia. - Obviamente, eu nunca tinha
feito uma colecistectomia antes, embora tivesse visto fazer uma boa
centena, e esta situa��o n�o fazia, decididamente, parte das que
poderia imaginar. Estava interessado numa nova sess�o como
200
espectador interessado, vendo dois profissionais (o residente j�
n�o era novo) a trabalhar em conjunto. Agora, no entanto, j� n�o
seria um espectador, mas um participante - na realidade, o actor
principal, Subitamente, o homem deitado sobre a mesa e o bisturi
na minha m�o adquiriram uma nova realidade. Interiormente
invadido pela incerteza, sabia que, se agora hesitasse, poderia
nunca mais sentir coragem para experimentar. Consegui dominar as
tremuras que amea�avam estender-se � minha m�o direita, agarrei
firmemente no bisturi e tentei copiar a primeira incis�o de Simpson
na parte superior do abd�men, introduzindo-o at� ao cabo e depois
descendo diagonalmente mesmo abaixo das costelas, do lado
direito, tentando sempre conservar o bisturi num �ngulo de noventa
graus com a pele. Queria agradar a Simpson como um filho deseja
agradar ao pai.
- Por Deus, ainda h� esperan�as para si - disse ele, por
brincadeira, sem saber como as suas palavras soavam docemente
aos meus ouvidos. Quando repeti a manobra, os m�sculos e a
gordura separaram-se e retra�ram-se. Houve alguma hemorragia, mas
n�o muita.
- Forceps. - A enfermeira entregou-mos e deu um par ao
cirurgi�o. Levantei um dos lados da incis�o e ele a outra. Nessa
altura est�vamos muito perto da fina membrana peritoneal que
reveste a cavidade abdominal. Est�vamos a fazer a eleva��o para
proteger os �rg�os subjacentes, quando empurrei a l�mina do
bisturi. Pop! Surgiu um orificio no abd�men e eu larguei o forceps.
- Segure no forceps - sugeriu Simpson - e corte enquanto
consegue ver. - Tentei faz�-lo, avan�ando cuidadosamente porque o
f�gado e os intestinos estavam claramente vis�veis na incis�o que
alargava. Correu tudo bem. Depois, para fazer a extremidade inferior
da incis�o, eu teria que mudar de t�cnica. Largando o forceps,
introduzi a m�o na incis�o e abri o resto do peritoneu, cortando por
entre os dedos. o meu cora��o batia violentamente. J� n�o me
sentia cansado, nem reparava no rel�gio, no r�dio ou no
anestesista. Estava assustado mas determinado. Simpson apalpou e
201
depois eu apalpei, e o residente tamb�m, e depois o residente
pegou nos retractores, enquanto eu me afastava um pouco para o
deixar ver, se desejasse. Tentei seguir a t�cnica de S�mpson com as
toalhas abdominais. Ele ajudou-me a colocar a �ltima e depois, com
a m�o, enrolou o duodeno, afastando-o para que eu pudesse ver
uma curva lisa de tecido que se estendia desde a parte superior do
duodeno at� � ves�cula biliar. Depois de aplicar clamps na ves�cula
e a puxar, utilizei a tesoura de Metzenbaum para empurrar para
baixo o tecido delicado. Havia por ali, algures, uma art�ria, a
art�ria c�stica, que transportava o sangue para a ves�cula. N�o a
podia cortar.
Sentia os m�sculos do pesco�o rijos como pedras, quando me
inclinei para diante, tentando ver claramente. Simpson disse-me que
me endireitasse, ou n�o aguentaria mais de quinze minutos. A
art�ria apareceu - com as dimens�es habituais, de uma art�ria
c�stica - e isolei-a com um clamp. Depois atei-a e peguei nas
pontas. Primeira la�ada. Passei o fio com o indicador direito.
�ptimo. Segunda. Para baixo. Que tens�o deveria dar ao fio? Assim
bastava; n�o convinha que se partisse. Mais uma la�ada, para ter a
certeza. Com a ajuda da pin�a, uma outra sutura rodeou a art�ria
c�stica. Desta vez tinha que dar um n� mais abaixo, junto da art�ria
hep�tica que penetrava no f�gado. A art�ria c�stica derivava da
art�ria hep�tica, e, puxando levemente a sutura j� feita em volta da
art�ria c�stica, pude ver a parede da art�ria hep�tica. Na realidade,
at� conseguia ver a ramifica��o que se dirigia ao lado direito do
f�gado. Isso fez que me sentisse melhor, porque havia sempre o
perigo de confundir aquela malvada com a art�ria c�stica e at�-la em
vez dela.
Estava muito preocupado com aquele segundo n� na art�ria
c�stica. Era o n� mais importante de toda a opera��o. Se se
desmanchasse, alguns dias depois, o paciente morreria de uma
hemorragia interna. Tendo isto em mente, passei a primeira la�ada
e espreitei para o orif�cio. Parecia estar bem. Involuntar�amente,
olhei para Simpson, que n�o fez coment�rios. Por isso terminei a
sutura e depois cortei a art�ria entre as duas ataduras, come�ando
202
a isolar a ves�cula.
Veio em seguida o canal c�stico, atrav�s do qual normalmente
corre a bilis. Tratei-o da mesma maneira, atando-o com duas suturas
e cortando entre os n�s. Uma vez isolada a ves�cula, passei tensa e
levemente o bisturi em volta do seu leito, de modo a separar a
camada exterior de tecidos brilhantes. Com a tesoura, comecei a
levantar a ves�cula e a afast�-la do f�gado.
- Ele faz que isto pare�a dif�cil - brincou Simpson. - Se demora
muito mais tempo, aquilo acaba por gangrenar. - Mal o ouvi. A
opera��o ainda s� durava havia vinte e cinco minutos.
Com mais um corte suave e um pux�o, a ves�cula libertou-se.
Deitei-a no recipiente que a enfermeira me estendeu. Com a outra
m�o, ela entregou-me um porta-agulha com sutura cr�mica 3-0.
Pegando no tecido do rebordo do leito da ves�cula e puxando-o
para cima do canal hep�tico e da art�ria hep�tica direita expostos,
dei um Ponto e prendi-o firmemente abaixo. Com demasiada firmeza.
A sutura rebentou. Outro, no mesmo lugar, desta vez com mais
cuidado e menor tens�o. Depois, com pontos seguidos, fechei o
leito da ves�cula.
Depois de retirar as toalhas utilizadas para separar a �rea da
ves�cula dos outros �rg�os internos, comecei a fechar. As
enfermeiras come�aram a fazer a contagem das esponjas e
instrumentos, para se certificarem de que eu nada tinha deixado no
interior do paciente. Estava tudo em ordem. Cuidadosamente,
identifiquei todos os n�veis da parede abdominal, especialmente a
dura camada fascial, que se tinha retra�do e desaparecido da minha
vista. Ponto ap�s ponto, fui fechando a incis�o, com o cirurgi�o e o
residente a ajudarem-me. Mergulhei a agulha curva no lado inferior,
retirei-a do outro lado da incis�o, voltei a posicion�-la com a m�o
esquerda e depois atravessei o lado superior. Fechei a incis�o
camada por camada, como se estivesse a baralhar cartas, vendo-as
unirem-se e sobreporem-se. Finalmente a pele. Quando terminei,
invadiu-me uma tremenda sensa��o de confian�a, semelhante �
sensa��o que se experimenta quando a prancha atravessa a �gua
203
branca. Quando retirei as luvas, o residente retribuiu-me o
cumprimento anterior. o mundo era meu. Enquanto acompanhava o
paciente pelo corredor at� � sala de recupera��o, continuava a
sentir-me excitado. Duas enfermeiras tomaram o paciente a seu
cargo, enquanto eu escrevia ordens p�s-operat�rias e ditava a nota
operat�ria. Depois a fadiga regressou, pesada. Sentia fome,
tamb�m, e decidi ir comer, porque apenas tinha no est�mago duas
fatias de p�o desde ojantar da noite anterior, dezanove horas
antes: eram 2 horas da tarde.
Chovia l� fora; tinha chovido durante todo o dia, conclu�, visto
que havia po�as de �gua nos locais mais baixos. No c�u
redemoinhavam nuvens cinzentas, perseguidas, ao longo da ilha,
pelos fortes ventos. A chuva era t�o violenta que eu mal conseguia
ver a cafetaria, a cerca de cem metros. Enquanto corria, o vento
fazia ondular as po�as de �gua por baixo das abas do telhado.
Senti que a minha sorte se tinha ido parcialmente embora quando vi
Joyce do outro lado da sala e, como seria de esperar, ela veio
imediatamente ter comigo. Com imensa gente � nossa volta a falar
da chuva, da Ta�a Hula e de muitas outras coisas, Joyce pouco falou,
a princ�pio, o que me deixou satisfeito. Depois, como que
obedecendo a um sinal, toda a gente se foi embora e Joyce
principiou.
- J� pensaste bastante? - perguntou.
- Em qu�? - inquiri, com curiosidade.
- Tu sabes, sobre n�s, como disseste que ias fazer.
- Oh, acerca de n�s. Sim, tenho pensado bastante nisso - disse
eu.
- Bom, eu tamb�m - acrescentou ela, endireitando-se na cadeira.
- E acho que dev�amos ser mais abertos um para o outro.
- Achas que sim? - o meu tom foi levemente sarc�stico, mas n�o
suficientemente para ela perceber.
- Nunca fal�mos um com o outro dos nossos sentimentos e dos
nossos pensamentos - acrescentou ela.
Estava enganada, nesse ponto. Ela j� me tinha dito demasiado,
204
especialmente como achava horr�vel esgueirar-se pelas escadas das
traseiras. Pouco � vontade, apercebi-me de que ela estava a um
passo de propor a cura instant�nea para essas fugas - o casamento.
Estava levemente descontrolada.
- Tu sempre me disseste o que se passava na tua cabe�a - disse
eu. - Nunca deixavas de falar daquelas escadas e de como achavas
tudo aquilo horr�vel.
- Bom, as coisas estavam a tornar-se muito desagrad�veis -
disse ela, com o ar de quem est� cheia de raz�o.
- Desagrad�veis, Bom, isso � verdade. Por que n�o fazes
qualquer coisa em rela��o � Miss Ma��se-TV, para podermos ir ao
teu apartamento como duas pessoas normais?
- A minha companheira de quarto n�o tem nada a ver com isto.
- A tua companheira de quarto tem muito a ver com isto. Se n�o
fosse a tua companheira de quarto, ficar�amos no teu apartamento e
j� n�o terias que te esgueirar pelas escadas.
- Tu n�o queres saber de mim - disse ela, num tom petulante.
- � claro que quero, mas n�o � isso que est� em causa. Se tu...
- Est� em causa, sim - interrompeu ela.
- Est�s a mudar de assunto - protestei eu.
- � o �nico assunto que me interessa - disse ela seriamente,
pondo-se de p� e arrastando a cadeira para tr�s. - De qualquer
forma, decidi que podes deixar de pensar em n�s e cair morto onde
quiseres. - E saiu, indignada.
Cair morto. Uma excelente sugest�o. Na verdade, havia um certo
encanto m�rbido na ideia. Estava morto de cansa�o. Depois de
Joyce sair, a sala afastou-se subitamente de mim. Ainda l� se
encontravam bastantes pessoas, sentadas �s mesas, mas nem uma
�nica estava comigo. Os sons de cem vozes misturavam-se, todas
distantes e incompreens�veis. Olhando atrav�s da janela para a
chuva e para as nuvens cinzentas acumuladas, continuei a comer,
distraidamente, vencido pela solid�o. J� nada restava da sensa��o
agrad�vel causada pela extrac��o da ves�cula; depois dela, eu tinha
ficado simplesmente esvaziado detodas as emo��es. Olhando para
o rel�gio, apercebi-me de que estava em movimento h� trinta horas.
205
Pensei na cl�nica e que devia l� ir. Os internos devem dar uma ajuda
no atendimento dos pacientes externos, nos seus "tempos livres".
Mas, no estado em que me encontrava, de pouco serviria. A cl�nica
que fosse para o inferno.
As gotas de chuva dan�avam em volta do telheiro, quando o
vento as fustigava, atirando-as para as �reas abrigadas. Estava
surpreendentemente frio. Quando se encontra fatigado, o corpo n�o
consegue tolerar muito, quanto a varia��es de temperatura. Por
isso, os arrepios que me percorriam eram, provavelmente, mais um
produto das minhas condi��es f�sicas do que do tempo. Apresseime,
concentrando-me totalmente na minha cama, antevendo o prazer
que iria sentir. Todos os internos desenvolvem um extraordin�rio
apre�o por coisas simples de que os outros nem se apercebem - o
movimento muscular livre, o direito de aliviar uma comich�o, de
esvaziar a bexiga ou os intestinos, refei��es mais ou menos
regulares, um per�odo decente de sono. Na cama, senti o meu corpo
afundar-se, crescer terrivelmente e invadir todo o quarto, at� que o
meu corpo enorme e o quarto se fundiram gradualmente,
transformando-se num s�, e adormeci.
o abcesso era pequeno, quando comecei, pouco mais que uma
borbulha. Agora era enorme, cobrindo a maior parte do bra�o
esquerdo e sempre em crescimento. Por mais que eu cortasse,
aparecia sempre mais; agora subia para o ombro. Por detr�s de
mim, H�rcules sussurrava ao Supercaro: "Ele n�o vai conseguir safarse.
E o doente tamb�m n�o." Para obter um pouco de
encorajamento, olhei para Simpson, que disse: "Faz isso bem logo �
primeira, Peters, ou est�s destinado a Hicksville." Num esfor�o final
e desesperado, cortei at� ao osso, atravessando os tecidos e, cheio
de horror, vi que tinha cortado o nervo uInar, imobilizando a m�o
para sempre. o tempo acabou, pensei, quando a campainha tocou;
fracasso! Era, naturalmente, o telefone. Ergui-me de um salto, para o
atender, ainda meio mergulhado no sonho e confundido pela luz.
Teria esquecido as rondas? N�o, n�o eram ainda cinco horas, e o
meu rel�gio marcava tr�s. Era do bloco operat�rio. Tinha sido
206
escalado para uma opera��o que come�ava dentro de quinze
minutos.
Desligando o telefone, recuperei a orienta��o. Por que teria
acordado naquele estado de terror? Depois, relacionei o sonho com
a incis�o e a drenagem que tinha feito no dia anterior a um enorme
abcesso num cotovelo. Depois de abrir o abcesso com um bisturi
afiado, provocando uma sa�da espont�nea de pus, tinha introduzido
a ponta de uma Pin�a hemost�tica para assegurar uma boa
drenagem. Mas o abcesso era muito mais fundo do que eu tinha
imaginado; parecia estender-se at� � regi�o do nervo uInar. Por isso
tive de ir cortando, cada vez mais abaixo, nunca chegando ao fundo
do abcesso e parando, finalmente, com receio de cortar o nervo
uInar, se n�o o tivesse feito j�. De qualquer forma, decidi parar por
ali e levar o caso � cirurgia.
o reflexo do medo tinha-me apanhado na cama, mas, depois, o
meu estado de desintegra��o f�sica come�ou a revelar-se. Tendo
estado tanto tempo a p�, dormir menos de uma hora s� piorara as
coisas. Nada � minha volta parecia funcionar bem; senti-me tonto e
levemente enjoado, quando me pus de p�, depois de ter cal�ado os
sapatos. Infelizmente olhei para o espelho - um erro grave, porque
me apercebi de que teria de me barbear, para entrar no mundo dos
vivos. As minhas m�os tremiam e, como habitualmente, cortei-me
algumas vezes: nada de grave, apenas o suficiente para que o
sangue continuasse a correr, apesar dos len�os de papel, da �gua
fria e uma forte e ardente aplica��o do l�pis hemost�tico.
Corri para a enfermaria. Tinha parado de chover, embora as
nuvens grossas e pesadas ainda estivessem baixas, sobre as
colinas. o meu paciente do abcesso ficou, provavelmente, um pouco
espantado quando entrei no quarto e lhe pedi que erguesse as
m�os e afastasse os dedos. Quando ele o fez, tentei unir os dedos
e obtive uma boa resist�ncia; isso indicava que o nervo uInar estava
intacto. N�o tive tempo de ver os outros, excepto o meu paciente do
edema cheio de �gua, cuja cama ficava ao lado da do doente do
abcesso. Ele queria fazer-me uma pergunta acerca dos comprimidos
diur�ticos e senti que tinha que responder-lhe.
207
Eu tinha adquirido um grande respeito por casos de edemas
graves daquele tipo que exigem uma diminui��o dos fluidos
corporais atrav�s do emprego de diur�ticos. Isso sucedera s�bita e
brutalmente - uma paciente com um carcinoma, transferida de uma
enfermaria m�dica, sofria de um edema total do corpo, uma situa��o
chamada anasarca. Conclu� que ela se encontrava naquele estado
porque o departamento m�dico tinhafeito asneira; havia sempre
uma pequena fric��o entre os que abriam - os cirurgi�es - e os que
lidavam com os medicamentos - os m�dicos. Aquela paciente sofria
de cancro, diagnosticado a partir da bi�psia de um n�dulo linf�tico.
Embora o local prim�rio nunca tivesse sido encontrado, nem
determinado o tipo exacto de cancro, algu�m tinha decidido atacar
com radioterapia, que nada tinha feito ao cancro, e depois com
quimioterapia, que tinha sido igualmente in�til. Entretanto, a
doente estava a IVs e os m�dicos tinham-na deixado ganhar tanto
l�quido que os n�veis de s�dio e cloreto desceram ao ponto de ela
entrar praticamente em del�rio. E esqueceram as suas prote�nas de
plasma, que tamb�m desceram. Quando recebi a paciente, decidi
livr�-la de toda aquela �gua. Dando-lhe alguma albumina e um
diur�tico, consegui alguma diurese e, assim, uma leve melhoria do
edema. Mas eu queria mais. Quando tentei obter alguns conselhos,
ningu�m se mostrou muito interessado, incluindo o assistente. Dado
que a sua urina era alcalina, decidi dar-lhe uma boa dose de cloreto
de am�nio com o diur�tico, e, desta vez, os resultados foram
espectaculares. Que diurese! A �gua abandonava-a, � medida que a
urina corria. Era terr�vel, espantoso - s� que nunca mais parava, e,
durante a noite, ela secou como uma ameixa. A broncopneumonia
instalou-se imediatamente e a mulher morreu dentro de um dia e
meio. Eu nun ca mais disse nada sobre o caso aos rapazes da
medicina, mas tinha ganho respeito aos agentes diur�ticos. Estava
a tomar muito cuidado com o homem ao lado do do abcesso. Ele
tomava apenas comprimidos.
E tinha tamb�m ganho respeito pelos abcessos. Tinha havido um
208
paciente - n�o meu, embora eu o visse todos os dias durante as
rondas - que tinha sido internado por causa de celulite invasora na
perna direita, a partir da �rea de um abcesso. Quando veio ter
connosco, a maior parte dos m�sculos da barriga da perna j�
estavam liquefeitos. Fizemos a cultura de diversos organismos
diferentes daquele abcesso; todos eles pareciam trabalhar em
conjunto contra o paciente. Um dia, quando o interno que tratava
dele esteve doente, tive de o drenar. o cheiro era indescrit�vel; mais
uma vez tive de recorrer ao uso de tr�s m�scaras, para n�o vomitar.
Quando tentei abrir a cavidade do abcesso, verifiquei que ele
seguia em todas as direc��es, at� onde o hemostato conseguia
chegar. Tinha havido uma grande discuss�o, durante as rondas,
sobre se a perna deveria ser amputada, mas os defensores de um
novo m�todo de perfus�o cont�nua de antibi�ticos ganharam - pelo
menos a discuss�o - e introduziram litros de antibi�tico na perna,
parecendo estabiliz�-lo durante um dia ou dois. Mas, subitamente,
um dia, enquanto est�vamos a olhar para ele, durante as rondas
matinais, o homem morreu. T�nhamo-nos aproximado do leito, e um
outro interno tinha come�ado a dizer que o paciente se encontrava
"essencialmente estacion�rio". Era curioso constatar quantas vezes a
palavra "essencialmente" era usada durante as rondas. Aquele
homem tinha tido falha hep�tica, falha card�aca, falha renal - na
realidade, falha corporal total. Mas, enquanto o interno fazia o seu
relat�rio de um estado neutro, o homem arquejou e morreu. Pareceunos
um acto de terr�vel mau gosto. Fic�mos a olh�-lo, estupefactos.
Ningu�m tentou reanim�-lo, porque todos nos t�nhamos habituado �
ideia de que era um caso perdido. Os nossos medicamentos
insignificantes apenas o tinham conservado em estado prec�rio
durante algum tempo, at� tudo se desmoronar, como tinha sucedido
naqueles casos de s�psis Gram-negativa, na escola m�dica. Assim
comecei a respeitar os abcessos. Na realidade, � medida que o
tempo ia passando, eu aprendia a respeitar todas as doen�as, por
muito in�cuas que parecessem ser.
Agora corria para o bloco operat�rio, j� atrasado. Havia grande
actividade no andar. Passei por internos, residentes e m�dicos, de
209
p�, junto das camas, a conversar, como sucedia sempre - excepto
quando estavam sentados a conversar na sala. A maior parte dessas
conversas centrava-se no tratamento e nos medicamentos a utilizar.
Quando estavam quase a chegar a um consenso, um dos
participantes recordava um efeito secund�rio, e, nessa altura,
sugeria-se um medicamento para contrariar esse efeito secund�rio,
medicamento esse que, por sua vez, tinha os seus pr�prios efeitos
secund�rios. A quest�o passava ent�o a ser: o que seria pior, o
segundo efeito secund�rio, ou a situa��o original? o segundo
medicamento tornaria os sintomas originais piores do que eram,
antes de o primeiro medicamento os ter melhorado? E a conversa
continuava sempre �s voltas, at� que a discuss�o parecia tornar-se
t�o complicada que parecia melhor recome�ar com o paciente
seguinte. Era isso que as enfermarias me pareciam. Conversa,
conversa, conversa. Pelo menos, na cirurgia, faz�amos qualquer
coisa. Mas os m�dicos declaravam, com certa raz�o, que s�
cort�vamos porque n�o podiamos curar. N�s argument�vamos que
cortar era, muitas vezes, a cura. A discuss�o andava para a frente e
para tr�s, sem conclus�es definitivas, sempre mantida num tom
amistoso, mesmo jovial, mas as suas ra�zes mergulhavam fundo.
Enfiar um outro fato esterilizado deu-me uma sensa��o de d�j�
vu. Estava a come�ar a viver com eles vestidos. Como j� n�o havia
fatos de tamanho m�dio, tive de usar um de tamanho grande e os
atilhos das cal�as davam-me duas vezes a volta � cintura. Atravessei
o guarda-vento para a �rea do bloco operat�rio. Enquanto cal�ava
os sapatos de lona, olhei para o quadro, para ver quem era o
operador. Z�s! Nada menos que El Poderoso Cirurgi�o Card�aco. Mas
que estava ele a fazer ali?A opera��o tinha a indica��o "Abcesso
Abdominal, Infectado" e era �bvio que El Poderoso trabalhava
geralmente com o t�rax. Todavia, as coisas estranhas tinham
deixado de me surpreender. Quando afastei o olhar, ele
cumprimentou-me, chamando-me pelo meu nome, de maneira muito
amistosa, mas eu sabia que n�o podia baixar a guarda, era apenas
o primeiro movimento, um acto condescendente no in�cio do
espect�culo - especialmente porque tinha que gritar para me
210
cumprimentar do meio do corredor, para que toda agente reparasse
na sua boa disposi��o e esp�rito de camaradagem.
Recordei-me amargamente do dia em que eu e um residente
t�nhamos sido destacados para um caso card�aco, n�o com um, mas
com dois cirurgi�es daquele g�nero. Os dois homens, de maneiras
absolutamente semelhantes e ocultos por detr�s das m�scaras s� se
distinguiam pela medida da cintura, pois um era muito mais gordo
que o outro. o caso tinha come�ado muito bem, com muita
afabilidade e palmadas nas costas. De s�bito, sem qualquer aviso,
um dos cirurgi�es come�ou a desancar o residente por dar sangue a
um paciente a morrer de cancro dos pulm�es. Na verdade, a decis�o
era discut�vel, mas n�o suficientemente grave parajustificar aquela
tirada diante de todos os presentes. Estava apenas a vangloriar-se,
para melhorar a sua auto-imagem. Assim foi durante toda a
opera��o, louvores e depois ataques, todos eles exagerados, at�
que cheg�mos a uma esp�cie de crescendo fren�tico de invectivas
que foi diminuindo gradualmente, regressando ao bom humor. Tinhame
parecido estar no manic�mio.
H� algo deste g�nero em muitos cirurgi�es - uma esp�cie de
abordagem da vida passivo-agressiva absolutamente imprevis�vel.
Num momento, somos amigos chegados e apreciados; no momento
seguinte, quem sabe? Era quase como se estivessem emboscados, �
espera que atravess�ssemos uma linha invis�vel e, quando o
faz�amos - z�s! - avan�ar, um interno tem de aprender a manter a
boca fechada. Mais tarde, quando residente, aprendeu a li��o t�o
bem que fica interiorizado. Por baixo, por�m, anda
permanentemente irritado. Embora pudesse ter sido muito agrad�vel
dizer a um tipo que se fosse lixar, eu nunca o fiz, e ningu�m mais o
fez. Estando situados no fundo do totem, aspir�vamos,
naturalmente, a subir, e isso significava entrar no jogo.
Nesse jogo, o medo entrava em simbiose com a ira. E a parte do
medo era a mais complicada. Como internos, pass�vamos a maior
parte do tempo cheios de medo; pelo menos eu passava. A
princ�pio, como qualquer humanista, sent�amos medo de cometer um
211
erro, porque ele poderia prejudicar um paciente, at� mesmo custarlhe
a vida. Cerca de seis meses mais tarde, por�m, o paciente
come�ava a recuar, tornando-se menos importante, � medida que a
nossa carreira progredia. Nessa altura j� se tinha conclu�do que
nenhum interno sofreria um rev�s por causa da desaprova��o oficial
da sua pr�tica de Medicina, por muito desleixado ou incompetente
que fosse. A �nica coisa que n�o era tolerada era a cr�tica ao
sistema. N�o importava que estiv�ssemos fatigados, ou
aprend�ssemos a passo de caracol, se � que aprend�amos alguma
coisa, enquanto est�vamos a ser explorados. Se quer�amos ser
residentes num bom hospital - e eu desejava-o desesperadamente -
aceitava-se tudo sem um murm�rio. Havia muita gente cheia de
esperan�as, na bicha, � espera do nosso lugar nas grandes ligas.
Por isso eu segurava p�s e retractores e ocupava-me de todas as
outras insignific�ncias. E a raiva estava sempre dentro de mim.
N�o acredit�vamos, na nossa maior parte, na teoria da
exist�ncia do diabo na hist�ria, ou numa no��o extrema do pecado
original, e, por isso, sab�amos que aqueles homens mais velhos que
tanto odi�vamos j� tinham sido como n�s. Aprinc�pio idealistas,
depois furiosos e depois resignados, tinham acabado por se tornar
maus como tudo. Finalmente, a ira e a frustra��o, retidas durante
tanto tempo, estavam a extravazar-se numa brilhante manifesta��o
de auto-indulg�ncia. E � custa de quem? De quem havia de ser? Os
pecados dos pais e dos av�s reca�am sobre n�s, os filhos do
sistema. Iria acontecer-me o mesmo? Pensava que sim. Na verdade,
j� tinha come�ado, porque eu j� tinha ultrapassado o meu per�odo
de idealismo da escola m�dica. J� n�o me surpreendia que
houvesse t�o poucos cavalheiros entre os cirurgi�es; na realidade,
o que me espantava era que alguns m�dicos ainda conseguissem
emergir como seres humanos. Aparentemente, poucos conseguiam. E
entre eles n�o estava o El Poderoso que eu ia ter de defrontar.
o homem deu-me uma palmada nas costas, querendo saber de
todos os pormenores. Era como se fosse dar-me rebu�ados ou beijar
os meus filhos, como qualquer pol�tico corrupto da grande cidade a
212
recolher votos. Na verdade estava a recolher autovotos. Eu estava
t�o cansado que n�o prestava aten��o ao que ele dizia ou fazia.
Conservei a cabe�a baixa, enquanto me esfregava, um passo de
cada vez. Vesti a bata e depois enfiei as luvas. o cen�rio � minha
volta era irreal. A voz do cirurgi�o ecoava, falando de tudo e de
nada, alguns decib�is acima das outras todas. o anestesista parecia
ter uma imunidade especial ou usar tamp�es nos ouvidos; sem se
preocupar com o cirurgi�o, tratava calmamente dos seus assuntos.
At� a enfermeira ignorava El Poderoso. Quer ele lhe pedisse uma
pin�a delicadamente ou aos gritos, ela entregava-lha da mesma
maneira reservada e eficiente, e continuava a ajeitar os
equipamentos. Esperava que ele se escutasse atentamente a si
pr�prio, porque, aparentemente, era a sua �nica audi�ncia.
o caso era uma reopera��o da inflama��o das pequenas bolsas
que as pessoas idosas t�m, por vezes, na parte inferior da coluna.
Aquele infeliz doente tinha sido operado � sua diverticulite, como
se chamava aquela situa��o, cerca de um m�s antes. Normalmente
recomenda-se uma opera��o em tr�s est�gios, mas o primeiro
cirurgi�o a oper�-lo tinha tentado fazer tudo de uma vez. o
resultado era um grande abcesso, que n�s �amos drenar, e uma
fistula fecal, que ia desde a incis�o anterior at� ao c�lon, que
estava a drenar pus e fezes.
Felizmente, o processo foi curto. Dei alguns n�s, todos eles
insatisfat�rios para o cirurgi�o. De resto, conservei-me silencioso e
im�vel, enquanto ele discursava sobre as vicissitudes da sua vida
quando era interno.
- Era realmente duro naqueles tempos... que fazer as hist�rias e
os exames f�sicos... todos os doentes... pela porta... e, al�m disso...
um quarto do sal�rio... e voc�s, meus malandros, recebem... - Eu mal
o ouvia. A minha exaust�o tornava-me realmente imune, projectando
para o exterior todos os coment�rios que penetravam no meu
c�rebro.
No final, sa� dali e troquei de roupa, envergando os meus trajos
normais. Eram quase quatro horas. Um pouco de sol da tarde tinha
aberto caminho entre as nuvens espessas e espreitava pelajanela.
213
Os raios refractavam-se e brilhavam nas gotas de chuva agarradas
aos vidros. Isto fez-me pensar em fazer surf. Mas ainda faltavam as
rondas da tarde; ainda n�o estava livre.
Descendo �s enfermarias cir�rgicas particulares, fui ver o meu
paciente da ves�cula, que estava bem. Press�o, pulso, urina - tudo
normal. Fiz a anota��o na ficha e dirigi-me � outra paciente da
ves�cula, embora estivesse certo de que o residente a tinha visto. E
tinha.
Parando nos raios-X, pedi a uma secret�ria que localizasse o
aortograma feito nessa manh� ao meu aneurisma, para o poder ver
rapidamente. Aparentemente, o residente chefe tinha realizado o
trabalho, ap�s os seus tit�nicos esfor�os. A secret�ria encontrou
logo as chapas e eu comecei a coloc�-las no visor. Eram tantas que
n�o cabiam todas. Felizmente os n�meros permitiram-me coloc�-las
em sequ�ncia. Agora era preciso encontrar o problema - o que era
geralmente um c�lculo, para mim. Mas, desta vez, at� eu conseguia
ver um volume consider�vel na aorta, mesmo abaixo da art�ria
subel�vica esquerda. Vendo-me diante das radiografias, o
radiologista chamou-me para me fazer a habitual prele��o sobre as
radiografias port�teis, com especial refer�ncia ao caso da h�rnia da
noite anterior. Mas desta vez eu tive a �ltima palavra. o
radiologista ficou abatido ao saber que o paciente tinha morrido.
Talvez acreditasse agora que eu n�o poderia ter mandado fazer uma
radiografia normal. Gozei a vit�ria embora, evidentemente, achasse
que a radiografia, boa ou m�, n�o teria feito a m�nima diferen�a.
Toda a gente no servi�o da enfermaria se encontrava sob
controlo. Ambas as h�rnias estavam em boas condi��es e j� podiam
andar; a gastrectomia tinha tido uma refei��o completa; as varizes
estavam prontas para ter alta de manh�; uma das hemorr�idas tinha
tido um movimento intestinal. o meu paciente do abcesso, com certa
raz�o, queria saber por que lhe tinha apertado os dedos, e o
homem do edema fez-me novas perguntas acerca dos comprimidos,
querendo saber como eles o poderiam fazer perder l�quidos. Satisfiz
ambos os pacientes com respostas simplistas.
214
Apenas um problema - um novo paciente, ou antes, um paciente
antigo, para me dar trabalho. Este homem, com uma grande �lcera
de dec�bito, tinha uma hist�ria de pelo menos vinte e cinco
internamentos anteriores. Um deles tinha sido por engolir l�minas
de barbear, outros por tentativas de suic�dio por m�todos mais
convencionais, e por reac��es de convers�o psiconeur�tica,
convuls�es, alcoolismo, dores abdominais, �lcera g�strica,
apendicite, incompet�ncia hep�tica - a sua ficha era uma lista de
doen�as prim�rias e secund�rias. Tamb�m tinha entrado e sa�do
diversas vezes do hospital estatal de doen�as mentais no decurso
de dez anos. Precisamente o tipo de doente que estava a fazer-me
falta, no estado de frescura e bom humor em que me encontrava.
Falar com ele era imposs�vel, porque estava t�o embriagado que s�
se recordava de pequenos detalhes meio loucos das �ltimas horas.
Tentar examin�-lo e estudar a ficha levou-me cerca de uma hora.
Depois, tive de limpar a �lcera, um processo conhecido pelo nome
franc�s de d�bridement, que tinha um som algo rom�ntico.
Inclinado sobre as suas n�degas, a olhar para a �lcera negra e
necr�tica, a supurar, que ele tinha contra�do por estar deitado
durante muito tempo na mesma posi��o, senti pena de n�o ter
estudado Direito. Com uma licenciatura em Direito, j� estaria a
ganhar a vida h� dois anos. Um guarda-roupa completo, um
escrit�rio impressionante, papel liso e limpo, uma secret�ria, longas
noites completas de sono - tudo isso teria sido meu. Naquele
momento n�o tinha uma �nica dessas coisas. Pelo contr�rio, estava
ali inclinado sobre o posterior malcheiroso de um alco�lico, a cortar
tecidos mortos, tentando evitar o fedor e afastar as n�useas. Tinha
sido excitante a primeira vez, na escola m�dica, vestir aquela bata
branca e fazer de conta que fazia parte do misterioso e fervilhante
mundo do hospital. E como eu tinha invejado os estudantes mais
velhos e os internos, com os seus estetosc�pios e agendas pretas, e
maneiras decididas e experientes. Tinha conseguido subir a escada
da Medicina e saltar os obst�culos espec�ficos - at� a realidade se
abrir diante dos meus olhos. Aquelas n�degas eram a realidade, o
215
outro extremo da vida, onde eu vivia.
Enquanto eu cortava, a �lcera come�ou a sangrar um pouco nos
rebordos. Quando os n�s dos dedos do paciente se tornaram
brancos nos pontos onde se agarrava ao len�ol, e quando ele
come�ou a praguejar e a bater na almofada, conclu� que tinha
alcan�ado tecidos vi�veis. Polvilhei com um pouco de Elase, que
deveria continuar a limpar a ferida, decompondo enzimaticamente o
tecido morto; depois cobri tudo com gaze de iodo. Aquela gaze n�o
cheirava propriamente a Chanel N� 5, mas, pelo menos, dominava os
outros cheiros, que passavam dos da porcaria nojenta aos de um
produto qu�mico desagrad�vel. Preferia o cheiro qu�mico. o Elase?
N�o sabia se ele actuaria, mas tinha-o aplicado por causa de um
artigo que tinha lido recentemente; dava-me a sensa��o de estar a
fazer qualquer coisa cient�fica.
Abria-se agora diante de mim o prazer das rondas da tarde.
Ningu�m gostava dessas rondas, e poucos achavam que houvesse
necessidade de estarmos presentes, porque todas as disposi��es
essenciais eram tomadas por comit�, por assim dizer. N�o obstante,
faz�amos as rondas da tarde como se elas fossem um dos Dez
Mandamentos. Ficando durante longos e terr�veis minutos, ora sobre
um p�, ora sobre o outro, convers�vamos e faz�amos gestos,
indicando aqui uma hemorr�ida, al�m uma gastrectomia. Olh�vamos
para as incis�es e certific�vamo-nos de que estavam fechadas e
n�o se encontravam avermelhadas. Os pensos eram rapidamente
substitu�dos, a esmo, enquanto os pacientes se submetiam como
silenciosos animais sacrificados no altar. Quando um deles arriscava
uma pergunta, era geralmente ignorada, perdia-se na conversa
"Quantos dias desde a opera��o?"; "Dever�amos mudar para uma
dieta suave ou continuar s� com l�quidos?". Como os outros, eu
apresentava os meus casos num tom mon�tono. "Hemorr�idas, dois
dias p�s-operat�rios, dreno r tirado, sem hemorragia, ainda sem
movimento intestinal, alimenta��o normal."
Arrast�vamos os p�s at� � cama seguinte; alguns dos m�dicos
pareciam interessados numa fenda do estuque do tecto, perto de
uma das l�mpadas. "Gastrectomia, seis dias p�s-operat�rios, dieta
216
suave, tem libertado gases mas n�ohouve movimento dos
intestinos, a incis�o est� a sarar bem, suturas retiradas amanh�,
prev�-se alta." Algu�m perguntava se a opera��o tinha sido uma
Billroth I ou II. Evidentemente, estava-se nas tintas para isso; era
uma daquelas perguntas que sempre se faziam acerca de uma
gastrectomia. "Bilroth II."
Algu�m mais perguntou se tinha havido uma vagotomia. "Sim,
houve uma vagotomia, e o relat�rio final foi positivo quanto ao
tecido neural." o paciente mostrou-se subitamente interessado e
perguntou o que era uma vagotomia, mas ningu�m lhe prestou
aten��o. Em vez disso, um dos residentes perguntou se a vagotomia
tinha sido selectiva. - Outra pergunta oportuna que conduzia a um
labirinto. "N�o, n�o foi selectiva. o relat�rio de percurso sobre a
�lcera consubstanciou um diagn�stico pr�-operat�rio de doen�a
p�ptica." Injectando subitamente uma informa��o concreta n�o
directamente associada � tend�ncia da conversa, tinha conseguido
efectivamente mudar de assunto, e arrast�mos os p�s para a cama
seguinte.
Continu�mos a avan�ar, sonolentos, ficando cada vez mais
fatigados e irrit�veis, aplicando mal todos os pensos. o assistente
disse que tudo parecia sob controlo e que nos veria � mesma hora
no dia seguinte. Como no sexto ano, num jogo de futebol, todos se
afastaram em todas as direc��es, menos eu. Aparentemente era eu
quem tinha a bola, porque fiquei ali parado, sem pensar em coisa
alguma, a olhar para a esquina de uma mesa que estava inclinada e
fazia que toda a perspectiva parecesse um pouco estranha.
Quando sa� do meu semitranse, estava indeciso quanto ao que
deveria fazer. Poderia voltar a ver os doentes particulares, ou
poderia sentar-me na enfermaria e aguardar novos internamentos,
ou poderia voltar ao quarto e dormir um pouco. A �ltima op��o foi
imediatamente posta de parte por uma quest�o de supersti��o. Se
eu fosse dormir, era mais que certo ser chamado para novos
internamentos, ao passo que, se ficasse na enfermaria, talvez n�o
houvesse novos internamentos. Um ponto de vista altamente
217
cient�fico. Instalei-me no posto das enfermeiras e comecei a folhear
alguns n�meros atrasados da revista Glamour, que uma das
raparigas ali tinha deixado. N�o estava a registar o que via.
Enquanto voltava as p�ginas e olhava os padr�es de cores, com as
figuras misturadas na minha mente, encontrava-me perdido no meu
pr�prio mundo interior, registando os sons e os movimentos � minha
volta, mas indiferente a eles. Um facto exterior conseguiu penetrar a
minha muralha: tinha recome�ado a chover. Curiosamente, o som da
chuva deu-me vontade de fazer surf; uma boa onda ou duas poderia
lavar os meus pensamentos depressivos. Estava excessivamente
fatigado e sabia que me sentiria inquieto se fosse directamente
para a cama. Al�m disso, ainda restava uma boa hora de luz do dia.
A chuva ca�a, gelada, sobre as minhas costas nuas, enquanto
atava a prancha ao tejadilho do meu VW. Uma vez dentro do carro,
liguei o aquecedor e esforcei-me para ver para o exterior. Chovia
com for�a e os limpa p�ra-brisas estavam,como habitualmente, com
dificuldades para enfrentar toda aquela �gua. Tinha grande f� nos
VW, excepto quanto a limpa p�ra-brisas. Nunca conseguiam manter
o p�ra-brisas limpo e sem distor��o - uma t�cnica curiosamente m�
num carro que era absolutamente seguro em tudo o resto.
Enquanto me dirigia para a praia, a chuva aumentou,
fragmentando a minha imagem da estrada em manchas de cinzento
e preto. De vez em quando tinha de enfiar a cabe�a pela janela
lateral para recuperar a perspectiva. o limpa p�ra-brisas do lado do
passageiro estava a trabalhar um pouco melhor agora, e descobri
que conseguia ver a estrada se me inclinasse para o lado. De certo
modo, a chuva come�ou a reconfortar-me, fechando um pouco o
mundo e dominando fortemente a minha consci�ncia.
Sentia a chuva ainda mais fria nas minhas costas, enquanto me
esfor�ava por retirar a prancha do tejadilho. o aquecedor dentro do
carro n�o tinha sido muito boa ideia. Depois de ter libertado a
prancha e a ter colocado sobre a cabe�a, fiquei protegido das gotas
geladas. Ansioso por ver as ondas, atravessei rapidamente a rua e
penetrei na praia, mas, evidentemente, s� conseguia ver alguns
218
metros � minha frente. Pela primeira vez desde que a conhecia, a
praia estava completamente deserta. Lan�ando a prancha � �gua,
saltei sobre ela, ficando ajoelhado, e comecei a remar furiosamente
com as m�os, tentando gerar um pouco de calor nos meus ossos
gelados. A chuva ca�a com for�a suficiente para me magoar o nariz,
for�ando-me a baixar a cabe�a e a espreitar por baixo das
sobrancelhas. o mar estava picado e desorganizado. Quanto mais
avan�ava, mais dif�cil se tornava manter a velocidade e a direc��o,
em face do forte vento kona que soprava para a praia. Fui remando,
remando, a olhar para baixo durante a maior parte do tempo,
fitando a t�bua � frente dos meus joelhos. A �gua envolvia-me em
redemo�nhos. Quando a parte da frente da prancha sa�a da �gua,
parecia seca por causa da cera, mas depois voltava a ficar molhada
quando eu me inclinava para apanhar outra vaga.
Sobre a rebenta��o, a praia e toda a ilha desapareceram por
detr�s de uma nebulosa muralha de chuva. Era uma rebenta��o de
tempestade, picada, ventosa e absolutamente imprevis�vel. Quando
apanhava uma onda, n�o podia prever para onde ela iria, se se
quebraria ou simplesmente desapareceria. Tinham desaparecido os
habituais movimentos harm�nicos e os pontos de refer�ncia
conhecidos. Podia encontrar-me a mais de mil milhas, no alto mar.
Os �nicos sons eram os do vento, da chuva e das ondas. A minha
mente come�ou a ver formas fant�sticas nas vagas e na cortina
invariavelmente cinzenta que pendia sobre mim. Imaginando
tubar�es a patrulhar a costa, sob a superf�cie perturbada do mar,
coloquei os bra�os e as pernas sobre a prancha e fiquei estendido
sobre ela. Uma onda empinou-se subitamente, quebrou-se e voltoume.
Em p�nico, consegui trepar de novo para a prancha, como um
gato com as orelhas achatadas, com medo de olhar para tr�s. Deixei
que a ac��o das ondas e do vento me empurrassem para a praia,
enquanto procurava sinais da ilha, uma seguran�a de que n�o me
encontrava, � deriva num mar solit�rio. Senti-me inundado de al�vio
quando o recorte esfumado de um pr�dio tomou forma. A minha
quilha raspou por coral. Depois a praia deserta apareceu, com a
areia batida pela chuva transformada em milh�es de crateras
219
miniaturais. Vi algumas pessoas a correr, manchas grotescas e
desprovidas de rosto, tentando proteger-se da chuva e do vento.
Quando entrei no carro, voltei a ligar o aquecedor, com os
dedos enrugados, e senti o seu bem-vindo calor a escapar-se do
ventilador. Estava roxo e a tremer enquanto me dirigia ao hospital,
novamente inclinado para o banco do passageiro, paraver o
caminho. Continuava a chover violentamente e as luzes dos outros
carros abriam no pavimento molhado passagens quebradas e
confusas.
A felicidade � um duche quente. Ondas de vapor quente
enchiam a cabina, lavando o sal e o frio e os pequenos medos
est�pidos que a minha mente tinha convocado, Deixei-me ficar
quase vinte minutos no duche, com a �gua quente a cair sobre a
cabe�a e a escorrer por todas as fendas e eleva��es do meu corpo.
Quando comecei a relaxar, pus-me a pensar como deveria passar a
noite. Dormir. Devia dormir. Sabia disso. Mas tamb�m sentia a
necessidade de me afastar do hospital, de ver algu�m. Karen tinhame
dito que, afinal, n�o ia sair. Karen. Era isso mesmo: iria postarme
diante do televisor dela, beber cerveja e deixar a mente
vegetar. Noite sim noite n�o eu n�o estava de servi�o e o telefone
permanecia silencioso. Era um prazer saber que ele n�oiria tocar.
Aquela seria uma dessas noites tranquilas. Ahhh.
Enxuguei-me, lenta e lascivamente, e depois regressei ao meu
quarto, a patinhar, com uma toalha enrolada em volta da cintura. A
cama parecia-me tentadora, mas estava com receio de, se dormisse
mais ou menos seis horas e depois me levantasse, n�o ser capaz de
voltar a adormecer. Era prefer�vel ficar a p� e adormecer mais tarde.
Nessa altura, o telefone tocou. Com toda a inoc�ncia, atendi-o. N�o
o devia ter feito, porque era o interno que estava de servi�o. Estava
com um problema e tinha que ir a casa durante uma hora, talvez
duas no m�ximo. Era um problema que n�o podia esperar.
- Sinto muito, Peters, mas tenho mesmo que ir. Importas-te de
ficar por mim?
- H� alguma opera��o marcada?
220
- N�o, nenhuma. Est� tudo calmo.
Embora a ideia de fazer o lugar dele me tirasse as for�as, n�o
podia recusar. Faz parte do c�digo de entreajuda e, quem podia
saber?, talvez eu viesse a precisar que ele me retribu�sse o favor.
- OK, eu fico por ti.
- Obrigad�ssimo, Peters. Vou dizer � telefonista que ficas no meu
lugar e volto o mais depressa poss�vel. Mais uma vez, obrigado.
Quando desliguei, pensei fatigadamente que, se tivesse que
assistir a alguma opera��o, desmaiaria. Estava certo de que me iria
abaixo, mental ou fisicamente, se tivesse que enfrentar uma longa
sess�o de qualquer tipo, especialmente uma opera��o com algu�m
como o Supercaro ou H�rcules ou El Poderoso Cirurgi�o Card�aco.
Vesti antecipadamente as roupas brancas, novamente na
esperan�a de afastar o mal com preparativos excessivos. Quando
telefonei a Karen n�o obtive resposta e recordei-me vagamente de
ela ter dito qualquer coisa sobre onze horas, mas n�o me recordava
exactamente de qu�. N�o tendo que fazer, estend�-me e abri um
livro de cirurgia, apoiando-o sobre o peito. o seu peso tornava-me a
respira��o um pouco dif�cil. Sem me concentrar efectivamente no
livro, a minha mente vagueou at� Karen. Que estaria ela a fazer �s
sete horas, se n�o tinha sa�do com o namorado? N�o podia dizer
que tivesse muitos motivos para confiar nela. Mas que queria eu
dizer com confian�a? Por que deveria essa palavra entrar na nossa
rela��o, afinal? Era uma reac��o de adolescente falar de confian�a
quando n�o pass�vamos de uma conveni�ncia um para o outro.
Estava a come�ar a ser conduzido para o sono por estes
devaneios quando o telefone me acordou. o maldito livro cir�rgico
ainda estava em cima do meu peito e eu estava a respirar com os
m�sculos abdominais. Era das urg�ncias.
- Dr. Peters, fala a enfermeira Shippen. A telefonista diz que
est� a fazer o lugar do Dr. Greer.
- Exactamente - concordei com relut�ncia.
- o interno de servi�o aqui est� atrasado. Importa-se de vir
ajudar?
- Quantas fichas est�o � espera no cesto?
221
- Nove. N�o, dez - respondeu ela.
- o interno pediu realmente ajuda? - Que diabo, euj� tinha tido
dez fichas de atraso nas noites de sexta-feira e s�bado, durante os
meus meses nas urg�ncias.
- N�o, mas ele � muito lento e...
- Se ele se atrasar numas quinze, mais ou menos, e se o pr�prio
interno pedir a minha ajuda, chame-me.
Desliguei, farto at� aos cabelos daquelas enfermeiras das
Urg�ncias, sempre a querer dirigir o espect�culo e tomar decis�es.
As Urg�ncias eram o territ�rio do interno; talvez ele ficasse irritado
se eu aparecesse de s�bito. Havia um gr�o de verdade e um quilo
de racionaliza��o nisto, penso eu. Contudo, durante os meus dois
meses nas Urg�ncias, eu nunca tinha pedido a ajuda de um interno
de servi�o. N�o podia imaginar que as coisas estivessem in
controlavelmente complicadas e o trabalho fosse assim tanto numa
noite de quarta-feira. Tentei ler um pouco mais, sem conseguir
avan�ar e ficando cada vez mais nervoso e deprimido. As minhas
m�os tremiam levemente - uma coisa nova - quando equilibrei o livro
sobre o peito. Os meus pensamentos passavam
desencontradamente da cirurgia para Karen e para o tempo horr�vel
em que estivera a fazer surf, regressando depois � cirurgia. Pondome
de p�, fui � casa de banho, sofrendo de uma leve diarreia - que
n�o era, ultimamente, invulgar em mim.
Quando o telefone tocou de novo, era a mesma enfermeira
oficiosa das Urg�ncias, a dizer, com satisfa��o, que o interno tinha
pedido ajuda. Fiquei t�o furioso que nem falei, limitei-me a desligar
o telefone. Antes que conseguisse sair do quarto, o telefone tocou
novamente. Era a enfermeira a perguntar, num tom ofendido, se eu
ia ou n�o. Reuni todo o �cido que conseguia e respondi que iria,
desde que eles conseguissem aguentar as coisas durante o tempo
suficiente para cal�ar os sapatos. N�o teve qualquer efeito. Ela
estava imune aos insultos e eu ao interesse pelo assunto, sem me
conseguir apressar; talvez quando eu l� chegasse as coisas j�
estivessem calmas. N�o me teria importado de fazer uma tranquila
222
sutura ou duas, ou coisa parecida. Mas estava certo de ter que
enfrentar algum acidente na auto-estrada ou convuls�es.
A chuva tinha passado e uma ou duas estrelas cintilavam entre
os c�mulos violeta-escuros das nuvens pesadas. o vento tinha
mudado de novo, tendo regressado os ventos al�sios que afastavam
o mau tempo kona.
Ao chegar ao banco, tive de aceitar que as coisas estavam
longe de estar calmas. Estavam l� a trabalhar um interno e dois
residentes. Al�m disso, tamb�m l� se encontravam quatro ou cinco
assistentes a ver os seus doentes. Uma das enfermeiras entregoume
uma ficha e disse que o sujeito estava � espera havia algum
tempo; n�o tinham conseguido contactar com o m�dico particular
dele. Peguei na ficha e dirigi-me � sala de observa��es, enquanto
alia. A principal queixa era "Nervosismo; acabaram-se-lhe os
comprimidos." Meu Deus! Parei e observei melhor a ficha. o m�dico
particular era um psiquiatra; n�o era de admirar que n�o
conseguissem localiz�-lo. E o paciente, um homem de 31 anos,
encontrava-se na sala de psiquiatria. Esta ficava, do outro lado,
para a direita. Que sorte a minha, pensei, um paciente do foro
psiqui�trico. Porque n�o havia de ser uma simples lacera��o do
couro cabeludo - algo que eu pudesse consertar - em vez de um
trabalho no interior da cabe�a?
Ao entrar na sala de psiquiatria, sentei-me e deparei com um
homem de aspecto juvenil sentado na marquesa. A marquesa e a
cadeira de costas direitas onde eu estava sentado eram os �nicos
m�veis daquela sala simples, de paredes brancas. Tanto a marquesa
como a cadeira estavam solidamente fixadas ao ch�o. Estava tudo
impecavelmente limpo ali dentro, e muito brilhante, gra�as a uma
s�rie de l�mpadas fluorescentes montadas no tecto. Depois de
consultar de novo a ficha, olhei para o homem. Era um tipo
razoavelmente bem parecido, com cabelos e olhos castanhos, muito
bem penteado. Tinha as m�os apertadas � frente, �nica sugest�o
do seu nervosismo; esfregava uma na outra como se estivesse a
moldar barro entre as palmas.
223
- N�o se sente bem? - perguntei.
- N�o. Ou antes, sim, n�o me estou a sentir bem - respondeu
ele, pousando as m�os nosjoelhos e afastando o olhar do meu. -
Penso que seja um interno. o meu m�dico n�o vem?
Fiquei a olhar para ele durante uns segundos. Tinha aprendido
que deix�-los falar era o melhor, mas tornava-se evidente que ele
pretendia que eu respondesse �s suas perguntas.
- Sim, sou um interno - disse eu, um pouco defensivamente. - E
n�o, n�o conseguimos contactar o seu m�dico. No entanto, penso
que podemos ajud�-lo, e poder� ir consultar o seu m�dico mais
tarde, talvez amanh�.
- Mas eu preciso dele agora - insistiu ele, tirando um cigarro do
bolso, que lhe permiti que acendesse. Os doentes psiqui�tricos
podiam fumar se quisessem; n�o havia oxig�nio na sala.
- Por que n�o me diz qualquer coisa sobre o que est� a
incomod�-lo, e talvez eu ou o residente psiqui�trico possamos
ajud�-lo. - Estava certo de n�o conseguir que o residente
psiqui�trico l� fosse, mas talvez pudesse contact�-lo pelo telefone.
- Estou nervoso - disse ele. - Sinto nervos pelo corpo todo e n�o
consigo estar quieto. Tenho medo de fazer qualquer coisa.
Houve uma pausa. Ele estava a ollhar para mim, fixamente.
Embora tivesse acendido o cigarro, n�o o levou aos l�bios,
segurando-o entre o segundo e o terceiro dedos, com um rasto de
fumo a serpentear-lhe diante do rosto. Os olhos, muito abertos,
tinham as pupilas relativamente dilatadas. Brilhava-lhe um pouco de
humidade na testa.
- Que coisa tem medo de fazer? - Queria dar-lhe toda a corda
poss�vel. Al�m disso, n�o me importava de falar ali sentado por
muito tempo. Os outros problemas das Urg�ncias, no meio do
pandem�nio, seriam resolvidos sem mim. Era bem feito, para n�o me
darem um doente do foro psiqui�trico.
- N�o sei o que posso fazer. Isso � metade do problema. Mas
sei que, quando fico assim, n�o tenho grande controlo sobre o que
penso... sobre o que penso. Penso. - Estava a olhar em frente, para
a parede branca, sem pestanejar. Depois fez uma careta s�bita e a
224
sua boca ficou transformada numa fenda apertada.
- H� quanto tempo tem esse tipo de problema? - perguntei,
tentando quebrar o transe, para o manter a falar. - H� quanto tempo
est� sob os cuidados de um psiquiatra?
A princ�pio ele pareceu n�o me ouvir, e estava prestes a repetir
a pergunta quando se voltou para mim, mais uma vez.
- H� cerca de oito anos. Diagnosticaram que eu era um tipo
esquizofr�nico, paran�ico, e j� estive duas vezes hospitalizado.
Tenho estado sob cuidados psiqui�tricos desde a primeira
hospitaliza��o, e tenho andado bem, especialmente no �ltimo ano.
Mas esta noite sinto-me como me sentia h� alguns anos. A �nica
diferen�a � que agora sei o que est� a suceder. � por isso que eu
preciso de mais Librium, e � por isso que tenho de ver o meu
m�dico. Tenho de parar com isto antes que perca o controlo.
A sua vis�o da situa��o surpreendeu-me. Conclu� que ele tinha
andado sob cuidados muito intensivos, talvez mesmo a fazer
psican�lise. Era inteligente, sem d�vida. Embora eu fosse novato
naquele tipo de coisas, sabia o suficiente para o manter a falar e a
comunicar. Teria sido f�cil limitar-me a dar-lhe Librium e esperar que
fizesse efeito. Mas agora eu estava interessado, em parte nele e
em parte na sua capacidade para me livrar do resto das Urg�ncias.
Em fundo, escutei o choro de uma crian�a.
- o que exigiu a sua hospitaliza��o? - perguntei.
Ele respondeu avidamente.
- Eu estava na faculdade, em Nova Iorque, e andava a ter certas
dificuldades nos estudos. Vivia com a minha m�e. o meu pai morreu
quando eu ainda era um beb�. Depois, durante o segundo ano da
faculdade, a minha m�e come�ou a ter um caso com um homem, o
que me aborreceu, embora, a princ�pio, n�o soubesse porqu�. Ele
era um cavalheiro, muito elegante e simp�tico, e tudo isso. Suponho
que devia ter gostado dele. Mas n�o gostei. Agora sei disso.
Odiava-o. A princ�pio dizia a mim mesmo que gostava dele. Quero
dizer, sentia-me atra�do por ele. Agora sei disso, tamb�m.
Eu come�ava a imaginar o quadro - o que a psiquiatria lhe dera,
225
uma moldura para as suas ansiedades. Agora que tinha come�ado,
prosseguiu.
- E a minha m�e, bem, comecei a odi�-la tamb�m, por diversas
raz�es. Era �dio a um n�vel inconsciente, claro. Uma das raz�es era
por ter come�ado a andar com aquele homem e me deixar de parte,
e a outra era por o guardar para ela. Penso que tinha tend�ncias
homossexuais latentes. Mas eu gostava da minha m�e. Era a �nica
pessoa de quem me sentia pr�ximo. Eu n�o tinha muitos amigos...
nunca tive... nem sentia grande prazer em sair com raparigas. Bom,
nessa altura o presidente Kennedy foi assassinado e eu soube que
tinha sido um jovem. Ia de metro para casa e vi jornais por todo o
lado: PRESIDENTE KENNEDY ASSASSINADO POR UM JOVEM. Fiquei
nervoso, j� andava assim h� alguns dias e, de repente, como eu era
um jovem, decidi, n�o me pergunte porqu�, que tinha sido eu quem
tinha assassinado oKennedy. Os dias seguintes foram um aut�ntico
inferno, tanto quanto consigo recordar-me. N�o fui para casa.
Andava aterrorizado com a ideia de que toda a gente me perseguia.
E o que tornava tudo pior era ver as pessoas a chorar por toda a
parte. Preocupava-me que descobrissem que eu era o assassino, de
modo que andei sempre a fugir, durante dois dias, ao que parece,
com medo de todas as pessoas que encontrava, e acredite que �
dif�cil fugir das pessoas em Nova iorque. Felizmente, acabei num
hospital. Levei quase um ano para acalmar, e foi preciso outro ano
de cuidados intensivos para compreender o que me tinha
acontecido. Depois as coisas...
Subitamente parou a meio da frase e p�s-se a olhar de novo
para a parede. Depois olhou para mim e pediu:
- Importa-se de medir a minha tens�o? Estou preocupado,
porque penso que est� muito alta.
Eu n�o me importava de lhe medir a tens�o, mas na sala n�o
havia equipamentos. Sa� para ir buscar um esfigmoman�metro,
levemente perturbado com a s�bita, concisa e impressionante
hist�ria de um esquizofr�nico paran�ico. No regresso, uma
enfermeira tentou impingir-me outra ficha, mas afastei-a, dizendo
226
que ainda n�o tinha acabado de atender o meu paciente.
De regresso � sala, o homemj� tinha arrega�ado a manga.
Mostrou-se muito interessado enquanto eu colocava a manga em
volta do seu bra�o e tentou ler o mostrador enquanto eu dava �
bomba. A press�o era de 146/96. Disse-lhe que estava levemente
alta, mas em conformidade com a sua agita��o. Na verdade, tinha
ficado um pouco surpreendido por a achar alta de mais. Depois,
perguntei-lhe o que acontecera depois de ele sair do hospital.
- De qual das vezes? - perguntou ele.
- Esteve hospitalizado mais que uma vez?
- Duas. Eu j� lhe disse.
- Que sucedeu depois da primeira hospitaliza��o?
- Correu tudo bem. Ia regularmente ao meu psiquiatra. Depois,
sem qualquer motivo, comecei a sentir-me nervoso, como agora, e as
coisas foram piorando cada vez mais, at� que tive de voltar para o
hospital durante mais quatro meses.
- De quanto tempo foi o intervalo entre as hospitaliza��es? -
perguntei.
- Cerca de um ano e meio. o verdadeiro problema � que nunca
conseguimos descobrir o que sucedeu da segunda vez. Eu n�o
estava paran�ico, s� nervoso. Tinha aquilo a que chamam
ansiedade impregnada. Depois, o meu psiquiatra come�ou a falar
de esquizofrenia pseudoneur�tica, mas n�o percebi isso muito bem,
embora leia muita coisa sobre o assunto. � por isso que esta
situa��o me preocupa tanto. Sinto-me nervoso agora,
verdadeiramente nervoso. Sinto a mesma ansiedade que sentia
antes de ir parar ao hospital pela segunda vez, e n�o suporto isso.
N�o quero ficar louco outra vez. N�o sei por que estou a sentir isto
agora. Andava tudo a correr bem ultimamente. At� o meu neg�cio
corre bem.
Apercebi-me de que ele tinha estado psicologicamente bem
compensado. Tinha conseguido ter um novo lar no Havai e tinha
mesmo iniciado um neg�cio. Estranhamente, senti-me nervoso
tamb�m, mas, evidentemente, por motivos diferentes e num grau
diferente. Estava exausto, mas o meu problema poderia ser curado
227
com um pouco de sono e de descontrac��o. o dele era a longo prazo
e, al�m disso, ele sentia receio de subitamente perder o controlo.
Uma enfermeira abriu a porta, come�ou a dizer qualquer coisa e
depois fechou-a, vendo-nos a conversar.
- Tem muitos amigos aqui? - perguntei.
- N�o, nem por isso. Nunca tive muitos amigos. Prefiro ficar em
casa a ler. N�o gosto de sair e sentar-me nos bares a beber. Pareceme
uma perda de tempo. N�o tenho muita coisa em comum com as
outras pessoas. Gosto de fazer surf de vez em quando, e vou fazer
surf com alguns tipos, mas nem sempre. Na maior parte das vezes
fa�o surf sozinho.
Aquilo divertiu-me, por um momento. Um surfista esquizofr�nico.
Mas, de certo modo, o estilo de vida dele era um pouco como o
meu.
- E a sua m�e? Onde est� ela agora?
- Em Nova Iorque. Casou com o tipo com quem andava. o meu
psiquiatra sugeriu-me que me afastasse por algum tempo. Por isso
vim para o Havai. N�o h� d�vida de que a minha vida mudou para
melhor.
Levantei-me e caminhei at� � porta. Uma das minhas pernas
tinha ficado dormente e sentia um formigueiro no p�.
- Qual � o seu neg�cio?
- Fotografia - respondeu ele. - Sou fot�grafo, independente, mas
tamb�m fa�o algum trabalho industrial. � isso que me mant�m
ocupado. - Levantou-se, para estender as pernas, e caminhou at� ao
outro extremo da sala, at� � cadeira. Voltei-me, pus as m�os atr�s
das costas e encostei-me � porta. Ele parecia um pouco mais calmo,
aliviado da sua ansiedade.
- E quanto a mulheres? - perguntei, um pouco hesitante,
perguntando a mim mesmo o que teria sucedido �quelas tend�ncias
homossexuais latentes a que ele tinha feito refer�ncia.
Olhou-me rapidamente, depois de ouvir as minhas palavras, e
em seguida sentou-se na cadeira, a olhar para o ch�o.
- Bem, muito bem. Nunca estive melhor. Na verdade, vou at�
228
casar-me muito em breve com uma �ptima rapariga. � por isso que
eu quero ter a certeza de que tudo esteja bem a meu respeito. N�o
quero passar mais tempo naquele maldito hospital. Agora, n�o.
Compreendia perfeitamente a sua preocupa��o. Ao dar-lhe voz,
ele tinha subitamente levado a conversa para um plano mais
pessoal. N�o porque n�o tiv�ssemos estado a falar de coisas
pessoais, mas o facto de ele ligar as suas dificuldades mentais ao
desejo de se casar tornava mais f�cil, para mim, compreend�-lo e
simpatizar com ele. Afinal, se ele conseguisse safar-se e estabelecer
um relacionamento real com a sua noiva, ela poderia ser o meio de
uma compensa��o permanente. Pelo menos era uma possibilidade.
Diferentemente de muitas pessoas mentalmente perturbadas,
aquele homem estava realmente a esfor�ar-se. Gostei disso. Senteime
na marquesa, perto da cadeira onde ele se encontrava.
- Isso � bom - disse eu. - Est� a ultrapassar o seu problema
b�sico.
- Pois �, � maravilhoso - repetiu ele, sem grande entusiasmo.
o facto de os esquizofr�nicos apresentarem afectos embotados
veio-me � mente, proveniente de uma vaga palestra psiqui�trica.
Deu-me uma moment�nea sensa��o de entendimento e prazer
acad�mico.
- Quando � que se casa? - perguntei, para ver se conseguia
obter dele uma reac��o emocional.
- Bom, esse � um dos problemas - disse ele. - Ela ainda n�o
marcou a data.
Este coment�rio fez-me recuar um pouco.
- Mas ela concordou em casar-se consigo, n�o � verdade?
- Concordou, sem d�vida. Mas ainda n�o decidiu quando quer
casar-se. Na verdade tencionava perguntar-lhe esta noite se ela
quereria casar-se no Ver�o. Gostaria de me casar este Ver�o.
- Ent�o por que n�o pergunta? - inquiri. Come�ava a formular
uma n�tida impress�o de hipersensibilidade esquizofr�nica contra
qualquer sinal de rejei��o. Talvez aquela ansiedade tivesse surgido
por ele sentir medo de ser rejeitado pela rapariga. Tudo indicava
que fosse isso.
229
- Esta noite n�o posso - disse ele.
- Por que n�o? - Era um ponto crucial. Se as coisas corressem
bem, ele poderia ficar �ptimo; mas, se ela o rejeitasse, o efeito
poderia ser catastr�fico. Ele tamb�m sabia disso.
- Porque ela me telefonou esta manh� e me disse que esta noite
n�o podia estar comigo. Quando lhe perguntei por que n�o, disse
que tinha uma coisa importante a fazer. Faz isso muitas vezes.
Eu sabia que ele estava numa posi��o dif�cil. Quando mais
avan�ava, mais dependente ficava da sua noiva para a sua pr�pria
estabilidade mental. N�o sabia que dizer-lhe. T�nhamos chegado a
uma esp�cie de impasse, e pensei que talvez fosse a altura de lhe
dar o Librium ou qualquer outra coisa. Depois, ele recome�ou a falar.
- Talvez a conhe�a - disse. - � enfermeira do hospital.
- Como � que ela se chama? - Senti uma certa curiosidade.
- Karen Christie - disse ele. -Vive aqui perto, do outro lado da
rua.
As palavras dele embateram na minha mente, derrubando
muralhas de defesa cuidadosamente constru�das e levando tudo �
sua frente. Senti que abria a boca involuntariamente, e aminha
vis�o ficou nublada, reflectindo a confus�o e a descren�a interiores.
Esforcei-me profundamente por recuperar a compostura exterior. Ele
estava demasiadamente mergulhado nos seus problemas para
reparar no meu desconforto. Continuou a descrever o seu
relacionamento com Karen. Agora, vinte segundos depois da sua
revela��o, eu estava de novo exteriormente calmo, a escut�-lo, mas,
por dentro, as minhas pr�prias mensagens urgentes retiravam todo
o significado �s suas palavras. Eramos como dois homens a falar do
mesmo assunto, mas em l�nguas diferentes.
Ent�o era aquele o "namorado", o "noivo". Eu partilhava Karen
com um esquizofr�nico que dependia totalmente dela para o seu
equil�brio mental, cujo mundo se desmoronava quando era privado
dessa compensa��o, como tinha sucedido por causa da decis�o de
passar aquela noite comigo. De uma maneira grotesca, mas muito
real, t�nhamos trocado de lugar: agora era ele o terapeuta e eu o
230
paciente. Era perfeito que eu estivesse sentado na marquesa e ele
na cadeira. Cerca de meia hora antes, eu t�nha-me sentido rejeitado
porque Karen s� me poderia receber depois das onze. Ao mesmo
tempo, tinha ilogicamente aben�oado a minha sorte por ela ter
outro homem que a levasse a sair e a trouxesse a casa a tempo de
uma cerveja e sexo comigo. o facto de ter estado a partilhar a
situa��o com um esquizofr�nico tentava-me a identificar-me com ele,
a ver-me � mesma luz. Mas eu n�o era, sem d�vida, esquizofr�nico;
a minha vis�o da realidade era at� boa de mais. N�o podia
acreditar que tivesse tido del�rios, porque eu era, por certo, muito
realista, especialmente quanto ao meu papel de interno. Al�m
disso, nunca tinha alucina��es. Eu teria dado por isso, pensei. Ou
n�o teria?
Subitamente, notei que ele estava a olhar para mim, � espera
de uma resposta. Com os olhos, pedi-lhe que repetisse.
- Conhece-a? - repetiu ele.
- Conhe�o - respondi mecanicamente. - Est� nos turnos de dia.
Come��mos a falar e a pensar de novo em l�nguas diferentes,
enquanto ele descrevia a sua meia vida com Karen e eu me retirava
para as minhas especula��es. N�o, tinha a certeza de que n�o era
esquizofr�nico, mas talvez tivesse tend�ncias esquiz�ides. Tentando
recordar-me de palestras e p�ginas de comp�ndios, esforcei-me por
recordar as caracter�sticas da personalidade esquiz�ide. A maior
parte desses casos, recordei-me, evitava relacionamentos pr�ximos
ou prolongados. Isso condizia comigo? Sim, muito decididamente,
nos �ltimos tempos. Por certo ningu�m poderia descrever as minhas
associa��es com Karen, Joyce ou mesmo Jan como �ntimas, ou
caracterizadas pelo respeito e pelo afecto. Cabiam mais no dom�nio
das conveni�ncias rec�procas - n�o tinha sido investida grande
emo��o genu�na ou vincula��o tanto da minha parte como da parte
delas. Tinha que confessar que, para mim, elas eram mais vaginas
ambulantes que pessoas inteiras, servindo n�o de um meio de
aproxima��o, mas de um m�todo de escape e de fuga. Sucedia o
mesmo em rela��o aos meus pacientes. No decurso dos meses, a
231
minha atitude para com eles tinha-se modificado. Cada caso passara
a ser um�rg�o, uma doen�a espec�fica, ou um tratamento. Desde
Roso, tinha evitado todos os contactos pr�ximos, intimidade e
envolvimento. At� isso me parecia esquiz�ide, agora. Subitamente
penetraram na minha mente pensamentos abjectos, doentios,
envenenando-me, e apercebi-me de que teria de sair rapidamente
daquela sala e afastar-me do hospital, ir para um s�tio onde
pudesse respirar. Dominando os meus pensamentos, concentrei-me
na realidade diante de mim.
- Que tipo de tranquilizante tem estado a tomar? - apressei-me
a perguntar.
- Librium, 25 mg - respondeu ele, um pouco confuso. Era evidente
que eu o tinha interrompido.
- �ptimo - disse eu. - Vou dar-lhe algum, mas recomendo que
entre em contacto com o seu m�dico esta noite ou amanh�.
Entretanto, vou receitar-lhe uma injec��o de Librium, para obter um
efeito imediato.
Antes que ele pudesse dizer alguma coisa mais, levantei-me
rapidamente da marquesa, abri a porta e sa� para a luz fluorescente
e para o movimento das Urg�ncias. Mecanicamente, preenchi uma
receita para "Librium, 25 mg., sig: etiqueta T, P. E., QID, disp. 10
comp.", enquanto a minha mente revolvia a ideia absurda de o
paciente se transformar em terapeuta. Isso, s� por si, parecia-me um
del�rio quase esquizofr�nico. Uma enfermeira tentou entregar-me
outra ficha, mas afastei-a. Disse a outra enfermeira que desse ao
paciente que se encontrava na sala de psiquiatria uma intramuscular
de 50 mg de Librium, Encontrava-me apenas semiconsciente da
actividade que me rodeava. Depois, antes de sair, achei que devia
ir ver uma vez o esquizofr�nico, para ter a certeza de que ele n�o
era uma alucina��o. Abri a porta. L� estava ele, a olhar para mim.
Fechei a porta e comecei a percorrer o caminho que levava ao
meu quarto. Eram bem verdadeiras todas aquelas coisas que tinha
pensado a meu respeito, naqueles segundos depois de ele ter
pronunciado o nome de Karen. Eu era um filho da m�e frio e
232
indiferente, e estava cada vez pior. Tudo aquilo em que eu pensara
o confirmava. o meu relacionamento inicial com Carno, por exemplo;
tinha desaparecido sob o disfarce da inconveni�ncia. Na realidade,
eu tinha sido excessivamente ego�sta e pregui�oso para lhe dar
continuidade. Fazer surf era provavelmente a maior de todas as
desculpas, especialmente porque, aparentemente, eu estava a
servir-me do surf para cobrir e disfar�ar a minha vida cada vez mais
isolada. E a pr�pria Karen - um relacionamento vazio e sem sentido,
n�o havia d�vida. Os sentimentos que eu tinha vagamente
experimentado, o vazio e um desejo de algo indefinido - tinha
tentado em v�o reprimi-los atrav�s dos encontros com Karen e com
Joyce, e at� mesmo com Jan. A maior parte de tudo isto tornou-se
horrivelmente clara nos momentos em que estive sentado numa
cadeira no meu quarto �s escuras, procurando respostas.
Eu nem sempre tinha sido assim. Na faculdade era diferente,
fazia amigos com facilidade e conservava-os. E aquele anseio de
solid�o que agora fazia parte de mim? Talvez o tivesse sentido um
pouco no primeiro ano da faculdade, mas depois disso n�o. Em
seguida tinha vindo a escola m�dica. As sementes da mudan�a
teriam sido a� plantadas? Sim. Afinal, tinha sido durante a escola
m�dica que os amigos se tinham afastado e as minhas atitudes e
pr�ticas para com as mulheres tinham mudado, por uma quest�o de
necessidade, compelido pelas dificuldades econ�micas e pelo
tempo limitado. Mas as sementes da mudan�a s� tinham germinado
durante o internato. Agora era sexual e socialmente pouco mais que
um prostituto, embora actuasse mais no hospital que no mundo real.
Que diferente tudo se tinha tornado. o telefone tocou, mas n�o lhe
dei aten��o. Despindo o fato branco, enfiei umas cal�as de ganga
cor de areia e uma camisola preta de gola alta.
Que me tinha sucedido? Seria apenas o hor�rio? Ou seria isso,
aliado ao medo e � raiva que estava sempre dentro de mim? Seria
basicamente o meu autodesprezo por n�o me manifestar quando
achava que o sistema estava corrompido, por me deixar levar, n�o
obstante, aguentando tudo? Estaria o meu c�rebro de tal modo
deformado pela exaust�o que deixara de funcionar logicamente?
233
N�o sabia ao certo. Quanto mais pensava, mais confuso e
deprimido me sentia. Confuso em rela��o �s causas, n�o aos
efeitos. Em perspectiva, os efeitos eram claros: tinha-me tornado um
aut�ntico patife.
Subitamente, pensei em Nancy Shepard, e como a tinha
afastado da minha mente, rejeitado as suas perguntas e as suas
acusa��es. Na noite em que t�nhamos discutido, ela estava a tentar
dizer-me o que eu acabara por saber pelo meu terapeuta - o meu
terapeuta, o esquizofr�nico. Que tri�ngulo, pensei: uma enfermeira
d�plice, um esquizofr�nico mal compensado e um interno chanfrado.
Naney Shepard tinha-me chamado um comodista incr�vel, uma
p�stula ego�sta que avan�ava para um ponto em que o amor se
tornava imposs�vel. E com raz�o. Que import�ncia tinha que
houvesse motivos para isso? Que n�o se tratasse de uma qualidade
inata da minha personalidade, mas adquirida? Que eu tivesse sido
encorajado, dia ap�s dia, a evitar o genu�no envolvimento
emocional, porque proceder assim era a �nica defesa natural que
podia convocar para lidar com a raiva, a hostilidade e o cansa�o?
Que import�ncia tinha que a vida de um interno fosse
estupidamente mon�tona, ou que o sistema m�dico abusasse dele e
o hostilizasse? Para uma Naney Shepard - para qualquer pessoa - s�
contava o resultado final da personalidade. Ela tinha-me aflorado
com algumas verdades e eu tinha-a corrido a pontap�s da minha
vida por causa disso.
Estendido na cama, perguntei a mim mesmo o que deveria fazer
agora. De momento, dormir. Quantas pontas teria ainda intactas? E
Karen? N�o sabia. Talvez voltasse a visit�-la, talvez n�o. Esperava
que n�o, mas provavelmente f�-lo-ia.
365.o Dia
A PARTIDA
o ap�ndice encontrava-se dentro de um recipiente de a�o, onde
eu o tinha colocado, um momento antes de voltar � mesa das
opera��es. o cirurgi�o estava a acabar de coser no lugar onde
234
havia estado o ap�ndice. A nossa concentra��o era t�o intensa que
nenhum de n�sviu a m�o que penetrara no campo operat�rio e
come�ara a mover-se ao acaso, apalpando os intestinos carnudos e
h�midos. A m�o n�o tinha luva-estava absolutamente deslocada ali,
no nosso campo operat�rio previamente esterilizado. Parecia uma
coisa estranha, vinda de uma zona crepuscular, para al�m das
coberturas cir�rgicas. o cirurgi�o e eu entreolh�mo-nos, alarmados, e
depois olh�mos para Straus, o interno que acabara de chegar, mas
Straus n�o conseguia afastar os olhos da m�o. Os segundos
seguintes passaram-se num remoinho de confus�o mental, enquanto
n�s os tr�s tent�vamos ligar a m�o intrusa a um dos membros da
equipa operat�ria. Quando eu larguei a agulha e a linha e estendi
a minha m�o para retirar a outra da incis�o, o cirurgi�o percebeu o
que se passara.
- Pelo amor de Deus, George, o tipo tem a m�o dentro da
barriga! Acordado do seu sonho, George, o anestesista, espreitou
por cima da protec��o do �ter e comentou:
- Essa � boa - de um modo absolutamente tranquilo, antes de
voltar a sentar-se. Com uma destreza que negava o seu aparente
torpor, injectou uma potente droga paralisadora dos m�sculos, a
succinilcolina, no tubo da IV. S� ent�o a m�o do paciente se
descontraiu e voltou a cair entre os len��is cir�rgicos.
- Quando disse que ia manter o paciente com anestesialeve,
nunca pensei que tiv�ssemos que lutar com ele - disse o m�dico.
Em vez de responder, George extraiu a agulha da succinilcolina
da IV com a m�o direita, enquanto a esquerda abria um pouco mais
o �xido nitroso. Depois de algumas compress�es for�adas do saco
de ventila��o, para introduzir mais depressa o �xido nitroso nos
pulm�es do paciente, George ergueu o olhar para se juntar �
conversa.
- Sabe, George, essa sua anestesia epidural � muito divertida.
Faz que se sinta de novo o desafio da cirurgia. Efectivamente, �
mais ou menos como fazer uma apendicectomia no s�culo XVI.
-Oh, n�o sei - replicou George. -Naqueles tempos, os pacientes
n�o atacavam s� com as m�os; tamb�m davam pontap�s. J�
235
repararam como os p�s dele t�m estado quietos? Temos feito
bastantes progressos na anestesia.
Dentro deste tipo de investidas, tinha sido uma barragem
bastante pesada e o cirurgi�o decidiu parar de fazer fogo. Em vez
disso, dirigiu a sua aten��o para salvar o que podia dentro do
campo operat�rio. Enquanto ele segurava, por precau��o, a
inc�moda m�o do paciente, eu cobri a incis�o com uma toalha
esterilizada embebida em solu��o salina. Straus, a enfermeira e eu
continu�vamos ainda esterilizados, como determina a terminologia
do bloco operat�rio.
Quebrar a esteriliza��o do bloco operat�rio era um problema
grave, porque aumentava grandemente a possibilidade de uma
infec��o p�s-operat�ria, com uma s�psis estafiloc�cica. H�
cirurgi�es que s�o absolutamente man�acos quanto � esteriliza��o -
mas nunca, aparentemente, de uma maneira racional. Por exemplo,
havia um professor da escola m�dica que exigia que os internos,
residentes e estudantes se lavassem durante exactamente dez
minutos. Quem tentasse entrar na sala de opera��es ap�s uma
esteriliza��o de menos de dez minutos, tinha de recome�ar do
princ�pio. Essas exig�ncias n�o se estendiam, todavia, � sua pr�pria
esteriliza��o que durava, num c�lculo generoso, pouco mais de tr�s
ou quatro minutos. Aparentemente, os outros estavam mais
contaminados, ou as bact�rias dele eram menos tenazes.
A sua mania da esteriliza��o foi respons�vel por um epis�dio
memor�vel. o caso era interessante, envolvendo um ferimento de
bala no pulm�o direito, e os residentes e internos estavam em tr�s
filas em volta da mesa de opera��es. Um estudante de Medicina,
cheio de recursos, que era bastante baixo, estava interessado em
seguir todos os detalhes. Por isso empilhou alguns bancos, colocouse
sobre eles e, amparando-se ao candeeiro sobre a mesa, podia
ter uma vis�o directa do campo operat�rio. Este engenhoso m�todo
resultou perfeitamente at� que os �culos lhe escorregaram do nariz
e foram cair, com um inocente plop mesmo dentro da incis�o. Isto
enervou de tal forma o professor que mandou o residente levar por
236
diante a opera��o.
Felizmente, Gallagher, o cirurgi�o da apendicectomia, dominava
as suas emo��es melhor que o professor da escola m�dica. Embora
obviamente incomodado, continuava a funcionar.
- George, veja se consegue puxar esse bra�o para fora dos
len��is e segur�-lo firmemente - disse Gallagher, olhando para mim
e revolvendo os olhos perante o absurdo de toda a cena, enquanto
o anestesista se enfiava, de cabe�a, por debaixo dos len��is.
- E voc�, Straus, afaste-se da mesa - disse eu. o pobre Straus
estava obviamente confuso. Os seus olhos voltavam-se ora para o
cirurgi�o, sempre sem largar a m�o do paciente, ora para a massa
de len��is que se moviam, revelando o avan�o do anestesista ou a
falta dele. - Junte as m�os, Straus, e conserve-as � altura do peito. -
Straus recuou, grato pelas instru��es recebidas.
Com certa dificuldade, o anestesista conseguiu voltar a colocar a
m�o do paciente no local devido e tentou segur�-la contra a mesa.
Depois, o cirurgi�o recuou e deixou que a enfermeira circulante lhe
despisse a bata e retirasse as luvas, enquanto a enfermeira da
esteriliza��o sa�a da sua peanha com um conjunto novo
devidamente esterilizado.
Que maneira de terminar o internato, pensei eu. Era a minha
�ltima opera��o marcada como interno - talvez a minha �ltima
actua��o no bloco operat�rio como interno, embora estivesse de
servi�o nessa noite e me pudessem ser dadas algumas horas extra
de cirurgia. De qualquer forma, aquele caso tinha sido um perfeito
circo desde o in�cio. Para come�ar, o paciente tomara o pequenoalmo�o
porque eu me tinha esquecido de escrever "sem alimenta��o
oral" na ficha, e as enfermeiras, que deviam ter pensado um pouco,
ao ver todas as outras instru��es pr�-operat�rias, tinham-no
alimentado.
- Straus, ajude-me aqui com os len��is esterilizados. - Inclinei-me
sobre o paciente e estendi a ponta de um novo len�ol esterilizado
para o novo interno. T�nhamos um dia de sobreposi��o - era o
primeiro dia dele e o meu �ltimo. Eu ainda era oficialmente um
237
interno, embora estivesse a agir mais como residente desde a
chegada de todos os internos. Pareciam um bom grupo, t�o �vidos e
inexperientes como n�s t�nhamos sido. Straus e eu t�nhamos sido
colocados juntos, para eu o ajudar a ambientar-se. Efectivamente
est�vamos ambos de servi�o nessa noite.
- Segure-os bem alto - indiquei, erguendo a minha extremidade
� altura dos olhos e deixando o rebordo cobrir o len�ol antigo. -
�ptimo. Agora deixe a parte superior cair por cima da protec��o do
�ter. - Ele pareceu perceber rapidamente, e entreguei-lhe o len�ol
inferior. Mas o cirurgi�o, j� de bata e luvas novas, estava
impaciente e tirou o len�ol a Straus, ajudando-me a coloc�-lo
rapidamente e sem mais palavras.
Eram duas e quinze no grande rel�gio com o seu quadrante
institucional bem conhecido. Custava-me a crer que, dentro de vinte
e quatro horas, deixaria para tr�s o meu internato. Como o ano tinha
passado rapidamente. No entanto, havia recorda��es que pareciam
ter mais de um ano. Roso, por exemplo. Ele n�o tinha sido sempre
uma parte de mim ? E...
- Que tal uma ajudazinha, Peters? - Gallagher j� brandia um
porta-agulha, do qual pendia um fino filamento. Mas n�o podia
come�ar porque a toalha esterilizada que eu colocara sobre a
incis�o ainda estava no lugar.
- Pin�a grande e uma bacia. - Estendi a m�o para a enfermeira
da esteriliza��o e ela colocou uma pin�a, com toda a for�a, sobre a
palma da minha m�o. Era um dem�nio na sala de opera��es.
Aparentemente via muita televis�o, porque nos batia com os
instrumentos na m�o ao ponto de fazer doer, e, quando enfiava as
luvas, era como se estivesse a tentar faz�-las chegar �s axilas. Com
a juda da pin�a, retirei a toalha esterilizada sem lhe tocar e deitei-a
para a bacia. o conceito de esteriliza��o na sala de opera��es
confundia-me tanto que errava sempre por excesso. N�o sabia se
Gallagher achava que a toalha estava contaminada, por isso, pelo
sim pelo n�o, n�o lhe toquei. Evidentemente, com o doente a meter
na incis�o a sua m�o nua, nada fazia sentido em todo aquele
processo.
238
Com a toalha fora do caminho, Gallagher voltou-se de novo para
o ap�ndice. Por sorte, o doente escolhera uma boa altura para as
suas pesquisas; o ap�ndice j� tinha sido extra�do. Gallagher tinha
estado prestes a fazer o fecho da segunda camada, na altura da
apari��o da m�o misteriosa.
George, o anestesista, conseguira uma fant�stica recupera��o.
As coisas j� tinham voltado � normalidade, do seu lado - o n�vel de
som da sua Panasonic port�til competia com o do respirador
autom�tico que tinha sido trazido, depois da succinilcolina. N�o se
tratava de uma mera precau��o. A succinilcolina � t�o potente que o
paciente se encontrava totalmente paralisado naquele momento, e
a m�quina estava a respirar por ele. Quando Gallagher deu o
primeiro ponto, depois da luta, o ambiente geral regressou ao n�vel
de antes da crise. At� fez uma pausa para escutar o relat�rio sobre
as condi��es de surf que sa�a do r�dio de George, por cima da
protec��o do �ter - "Ala Moana tr�s-quatro e calma". Mas a minha
prancha j� tinha sido vendida. Gallagher era um dos dois cirurgi�es
maisjovens que de vez em quando faziam surf. Tinha-o visto algumas
vezes no "n�mero 3" ao largo de Waikiki, e era, sem d�vida, melhor
cirurgi�o do que surfista, pois era uma pessoa muito requintada.
Tinha o h�bito de pegar nos instrumentos cir�rgicos com o dedo
m�nimo espetado, como uma dama de um clube de floricultura pega
na sua ch�vena de ch�.
Foi assim que deu o ponto seguinte - afastando o dedinho tanto
quanto poss�vel dos dedos restantes e puxando habilmente o fio do
porta-agulha para a minha m�o que aguardava. Como eu era o
primeiro assistente, competia-me atar. Straus segurava nos
retractores. A primeira la�ada foi formada e atada com extrema
rapidez, como sucede quando um acto se torna reflexo. As paredes
opostas do intestino grosso uniram-se sobre o coto invertido do
ap�ndice. Enquanto eu esticava a sutura, Gallagher fingia n�o olhar,
mas estava certo de que n�o me perdia de vista. Como nada disse,
parti do princ�pio de que aprovara o grau de aperto que eu dera �
primeira la�ada. Depois tirou o porta-agulha carregado de novo das
239
m�os da enfermeira, quando eu iniciei a segunda la�ada.
- Ei, Straus, que tal levantar um pouco esses retractores para eu
ver o meu n� ? - Aborreceu-me que Straus estivesse a olhar para o ar
precisamente nessa altura. Esperei, passando a segunda la�ada,
enquanto ele olhava para a incis�o e a levantava com a m�o
direita, abrindo-a mais. Isso possibilitou que o meu indicador
fizesse descer o fio � altura da primeira la�ada, onde a apertei com
uma precis�o que me pareceu perfeita. Outra la�ada, com a outra
m�o a conduzir, de modo a obter um n� direito, n�o um n�
escorregadio.
Cinco dessas suturas cobriram completamente a �rea do coto do
ap�ndice e est�vamos prontos para fechar.
- Straus, fez um trabalho excelente - disse Gallagher, piscandome
o olho, enquanto retirava os retractores das m�os do interno. -
N�o teria podido passar sem a sua ajuda. - N�o sabendo ao certo
se Gallagher estava ou n�o a gozar com ele, Straus decidiu
sensatamente permanecer em sil�ncio. - Onde aprendeu a fazer
assim a retrac��o, Straus?
- Ajudei a algumas opera��es na escola m�dica - disse ele,
modestamente.
-Tinha a certeza disso - replicou Gallagher, com um sorriso
subrept�cio a notar-se aos lados da m�scara. -Peters, com ajuda do
nosso jovem cirurgi�o, poder� fechar a incis�o?
- Penso que sim, Dr. Gallagher.
Gallagher hesitou, olhando para a incis�o.
- Pensando bem, � melhor eu ficar. Se o paciente sofrer uma
infec��o p�s-operat�ria, quero que as culpas recaiam sobre um
m�nimo de pessoas... apenas sobre o George. George, est� a ouvir?
Que foi? - George ergueu o olhar do seu relat�rio de anestesia,
mas Gallagher ignorou-o e recuou, para lavar as m�os na bacia.
- Straus, como vai em atar n�s?
- N�o muito bem.
- Bom, est� pronto para experimentar uns?
- Penso que sim.
- OK, quando chegarmos � pele, at�.
240
As suturas faciais foram rapidamente feitas. Eu agora atava t�o
rapidamente quanto o cirurgi�o suturava, e a enfermeira tinha de
apressar-se para nos acompanhar. A incis�o sorridente foi-se
fechando, � medida que eram feitas e atadas as suturas
subcut�neas.
- OK, Straus, vejamos o que sabe fazer - disse Gallagher, depois
de colocar a primeira sutura d�rmica no centro da incis�o e de ter
puxado o fio de seda sobre o abd�men do paciente. A primeira
sutura d�rmica, no centro de uma incis�o, � a mais dif�cil, porque,
at� serem feitas as outras, tem de suportar uma grande tens�o e
essa tens�o dificulta a sua atadura com a tens�o adequada.
Gallagher piscou-me de novo o olho, quando Straus pegou nas duas
pontas do fio. Straus nem sequer tinha as luvas bem esticadas e
havia protuber�ncias de borracha enrugada nas pontas dos seus
dedos. No entanto, n�o ergueu o olhar - o que foi bom, porque eu
sabia o que o esperava e o meu rosto estava contorcido num amplo
sorriso de antecipa��o.
Pobre Straus. Quando fez a segunda la�ada, estava a transpirar,
e os rebordos da pele encontravam-se ainda a cerca de um
cent�metro de dist�ncia. Al�m disso, tinha os dedos todos
enfeixados na sutura, de uma maneira que dava a impress�o de
estar a fazer um n�mero c�mico. Mas continuava a n�o olhar para
cima, o que era um bom sinal. Havia de ser dos bons.
- Straus, conhece bem a teoria. As suturas d�rmicas n�o devem
ficar muito esticadas. - Gallagher riu-se. - Mas um cent�metro de
separa��o � levar as coisas longe de mais.
- Podem demorar o tempo que quiserem. o paciente vai ficar
paralisado durante bastante tempo, com aquela succinilcolina -
acrescentou George.
Cortei a sutura, arranquei-a e atirei-a para o ch�o. Gallagher
aplicou outra, separando o fio da agulha com um movimento quase
impercept�vel da m�o. Em sil�ncio, Straus pegou nas duas pontas e
recome�ou a tentar.
- N�o foi a primeira vez que vi uma m�o nua numa incis�o
241
abdominal - disse eu, olhando para Gallagher. - Certa vez, na escola
m�dica, est�vamos uns oito estudantes na sala de opera��es,
tentando ver um caso, e o cirurgi�o disse: "Apalpem esta massa.
Digam-me o que pensam." Todos os residentes apalparam,
acenando com a cabe�a, e, de repente, apareceu uma m�o sem luva,
entre dois residentes, e apalpou tamb�m.
- Foi um dos estudantes? - perguntou o anestesista.
- Provavelmente. Nunca cheg�mos a saber ao certo, porque
fomos todos corridos pelo residente chefe, que estava a tentar
acalmar o cirurgi�o.
Straus continuava a lutar com a segunda sutura, largando as
pontas, ficando com os dedos presos e inclinando-se para um lado e
para o outro, contorcendo o corpo como um jogador que pretende
apanhar a bola. N�o sei como � que ele esperava que aquelas
contor��es o ajudassem, mas reconhecia em mim a mesma
tend�ncia.
- o paciente teve uma infec��o p�s-operat�ria? - perguntou
Gallagher.
- N�. Safou-se sem complica��es - disse eu.
- Esperemos que este siga pelo mesmo caminho. Sem falar,
desemaranhei o fio de seda das m�os de Gallagher e fiz
rapidamente um n�, puxando-o para o lado, para o afastar da
sutura. Straus manteve obstinadamente a cabe�a baixa enquanto
Gallagher fazia outra sutura.
- Que tal esta, meu prometedor cirurgi�o? - disse Gallagher,
esticando os bra�os com as m�os invertidas e os dedos
entrela�ados. Uma ou duas articula��es estalaram.
Aquele Straus era realmente um tipo silencioso; nem um som
provinha dele enquanto se concentrava na sutura. Na verdade, eu j�
estava a ficar cansado dojogo, de estar ali av�-lo �s voltas. Eram
quase tr�s horas e tinha muito que fazer, �ltimas coisas a meter nas
malas e outros pormenores. Depois de um olhar tranquilizador para
Gallagher, voltei a desatar a sutura de Straus e fiz um r�pido n�
direito, unindo os rebordos da pele sem qualquer tens�o.
242
- Bom, penso que voc�s os dois podem acabar isso. N�o se
esque�am, s� quero um peda�o de adesivo fino sobre o penso. -
Dizendo isto, Gallagher dirigiu-se � porta, arrancou as luvas e
desapareceu. Straus ergueu o olhar pela primeira vez desde que
come�ara a atar as suturas.
- Prefere atar ou coser? - perguntei, fitando o seu rosto suado e
tenso. Na verdade, n�o conseguia decidir o que seria pior, se ele
atar ou ele coser. S� queria ir-me embora dali.
- Eu coso - disse ele, estendendo a m�o para a enfermeira que,
como habitualmente, lhe bateu com toda a for�a com o porta-agulha
na palma da m�o. o som agudo do metal sobre a borracha esticada
ecoou em volta das paredes nuas da sala de opera��es. Straus deu
praticamente um salto, assustado com o impacte. Depois,
cambaleou e, recompondo-se, com outra olhadela r�pida para mim,
inclinou-se sobre a incis�o e mergulhou a agulha na pele no lado
superior da incis�o.
- Straus.
- Que foi? - Inclinou o rosto para cima, conservando-se curvado.
- Segure a agulha de modo que a ponta fique perpendicular �
pele e depois mova o pulso... por outras palavras, siga a curva da
agulha.
Ele tentou mas, quando fez rolar o pulso, rodou o porta-agulha
sem ter em conta a dist�ncia entre o suporte e a ponta da agulha
curva. o resultado foi um leve estalido met�lico quando a agulha se
partiu mesmo rente � pele. A m�o dele ficou paralisada, enquanto
os seus olhos, cheios de descren�a e ansiedade, iam da ponta
partida da agulha para mim.
"Estou lixado", pensei.
- OK, Straus, n�o mexa em nada. - o "Big Ben" dizia que
passavam cinco minutos das tr�s.
As pontas de agulha - na verdade at� as agulhas inteiras - eram
quase imposs�veis de encontrar quando se perdiam. Felizmente, eu
conseguia ver a parte superior desta mesmo ao n�vel da pele. -
Pin�a mosquito. - Sem tirar os olhos da ponta quase invis�vel,
estendi a m�o para a enfermeira. Z�s! A for�a do delicado
243
instrumento enviou uma onda de choque pelo meu bra�o acima,
fazendo vibrar o campo de vis�o. A agulha partida desapareceu.
Olhei, furioso, para a enfermeira. Era uma mulher enorme,
praticamente esf�rica, cujo peso era uns dez quilos superior ao meu,
e o seu olhar, naquele momento, continha uma mal�cia t�o
inesperada, que declinei a oportunidade de dizer qualquer coisa.
Em vez disso, concentrei-me na delicada pin�a mosquito, que de
qualquer forma ainda estava inteira, na minha m�o. Colocando o
indicador esquerdo na incis�o e empurrando levemente por baixo da
agulha partida, encontrei alguma resist�ncia antes de tentar agarrar
o peda�o de a�o. No entanto, a primeira tentativa apenas
conseguiu empurrar o raio da coisa um pouco mais para dentro.
Nessa altura tomei a decis�o de terminar eu a sutura e a atadura. A
segunda tentativa foi melhor sucedida; retirando a pin�a, fiquei
aliviado ao ver a ponta brilhante da agulha firmemente segura na
sua extremidade, e, com o cuidado de um relojoeiro, depositei-a
num canto do tabuleiro dos instrumentos, comparando o peda�o com
a sua base, para ter a certeza absoluta de que n�o faltava qualquer
segmento. Satisfeito, pedi uma sutura, evitando olhar para Straus.
A pele curvou-se por baixo da agulha perpendicular, quando
aumentei a press�o, at� que, com um estalido, a agulha penetrou
na pele. Fazendo rodar o pulso num arco cujo centro se desviou para
eliminar a tor��o na ponta da agulha - a for�a que Straus n�o tinha
tido em conta - trouxe a ponta da agulha at� � superf�cie inferior da
pele, do lado oposto da incis�o. Contra a contrapress�o exercida
pelos meus dedos indicador e m�dio da m�o esquerda, torci de
maneira decisiva a m�o direita, e a ponta da agulha irrompeu -
Puxando a agulha com o suporte, completei o ponto. Desliguei o fio,
levantando o porta-agulha de modo que o orif�cio da agulha
apontasse para cima; a tens�o na extremidade do fio que
atravessava a pele arrancou o fio do instrumento.
Seguindo a rotina aceite, larguei o porta-agulha vazio na �rea
coberta entre as pernas do paciente. A enfermeira recuper�-lo-ia
automaticamente e enfi�-lo-ia de novo. Entretanto, peguei na
244
extremidade do fio, fiz um n� com quatro la�adas e termiinei com as
duas pontas esticadas. S� ent�o olhei para Straus.
- Que tal cortar, Straus? - perguntei. Ele moveu-se, sem
responder, cortou o fio e continuou a olhar para a incis�o. Apliquei
mais dez suturas de forma semelhante, rapidamente e sem
conversas. Depois de cortar um peda�o de adesivo e o colocar sobre
a incis�o fechada, voltei-me para Straus.
- Por que n�o escreve as ordens p�s-operat�rias? Tem de
come�ar por alguma coisa. Eu depois vejo-as, quando me mudar. E
depois vou apresent�-lo aos seus doentes, OK?
- OK - disse ele finalmente, numa voz sem timbre.
- Al�m disso - prossegui - vou mostrar-lhe o que sei quanto a
suturar e atar, se quiser. - Straus n�o falou.
Que chato, pensei. Se elej� est� cansado, o ano vai ser muito,
muito longo para ele. Mas o problema era dele, e a sua atitude n�o
me incomodou por muito tempo; tinha mais que fazer. Deitando as
luvas no saco junto da porta, sa� do bloco operat�rio pela �ltima vez
como interno, sem a m�nima sensa��o de nostalgia. Na verdade,
sentia-me euf�rico. Sentia que tinha cumprido a minha pena e
estava pronto para ser residente. Muito pronto, mesmo. A pr�tica da
Medicina estava finalmente � vista. Enquanto caminhava pelo
corredor do bloco operat�rio, perguntava a mim mesmo se deveria
comprar um Mercedes ou um Porsche. Sempre desejara um Porsche,
mas, vendo bem, era um carro pouco pr�tico. Um Cadillac? Nunca
teria um Cadillac. Que autom�vel obsceno! - embora fosse um dos
favoritos dos cirurgi�es. H�rcules tinha um, e o Supercaro tamb�m.
De qualquer forma, o Mercedes atra�a-me mais.
A ementa chamava-lhes croquetes de vitela, mas, para n�s, eram
uns montinhos misteriosos; o ant�doto era o ketchup. Como na maior
parte das cafetarias dos hospitais, a comida exigia uma excelente
imagina��o e boa vontade da parte de quem a encomendava. Se a
ementa dizia vitela, convinha que nos agarr�ssemos tenazmente �
no��o de vitela, apesar das provas em contr�rio, quanto a gosto,
245
textura e aspecto. Convinha tamb�m suprimir qualquer conhecimento
das pr�ticas imperfeitas dos matadouros, estar com muita fome e
ser aben�oado com uma boa conversa.
Para ser justo, penso que a cozinha da cafetaria do Havai era
cordon bleu, em compara��o com as que tinha conhecido durante a
escola m�dica em Nova Iorque. Todavia, mesmo no Havai, o servi�o
alimentar recorria ocasionalmente a misteriosos past�is de carne
mo�da e, como se quisesse ajudar-me a festejar, escolheu essa noite
para servir a vitela, uma das minhas pe�as favoritas para conversar.
Al�m disso, eu ainda estava de servi�o. Mesmo assim, a refei��o foi
como um banquete. Era a minha �ltima noite como interno, e, no
entanto, j� estava praticamente afastado do campo de batalha.
Straus estaria indubitavelmente na primeira linha de defesa se e
quando os sarilhos come�assem.
o clima da sala de jantar era agrad�vel. Finos veios de luz solar
penetravam atrav�s das fendas e em volta dos estores das janelas
voltadas para sudoeste. Part�culas de poeira dan�avam nos raios
dourados do sol, como bact�rias sob um microsc�pio. S� um m�dico
se podia lembrar desta compara��o. Um dos inconvenientes do
treino t�cnico concentrado � que a nossa mente acaba por reduzir
tudo a uma experi�ncia t�cnica. A poeira poderia tamb�m lembrar
peixes num oceano ou aves no c�u. Mas, a mim, lembrava bact�rias
numa amostra de urina para an�lise.
Est�vamos reunidos, num grupo, em volta de uma das grandes
mesas perto da janela. Straus encontrava-se � minha esquerda,
depois de Jan, que estava sentada ao meu lado. Num contexto
social, longe dos terrores do bloco operat�rio, Straus era tudo
menos uma pessoa silenciosa e retra�da, como eu o julgara. Na
verdade, era uma pessoa extremamente animada, faladora e, poderse-
ia dizer, litigiosa. Parecia discordar de todas as minhas
afirma��es, quer se tratasse de autom�veis, de rem�dios ou de
medicina.
Como frequentemente sucedia, a conversa tinha-se desviado
inexoravelmente para os cuidados m�dicos nos Estados Unidos.
Havia mais seis ou sete pessoas em volta da mesa, al�m de Straus,
246
de Jan e de mim, mas, por qualquer modo, tinham decidido, no
in�cio da refei��o, apenas escutar em vez de participar, e comiam a
sua comida e bebiam o seu caf� em sil�ncio, deixando-nos falar. A
sua �nica participa��o consistia numa ou noutra risada incr�dula,
acompanhada por um revirar de olhos e um abanar de cabe�a, para
demonstrar que o que havia sido dito era rid�culo. Era �bvio que n�o
pretendiam acrescentar algo de concreto ou relevante. Comecei a
p�-los de parte, concentrando-me em Straus, que prosseguia
animadamente.
A �nica maneira por que os cuidados m�dicos podem ser
equitativamente distribu�dos de modo que toda a gente goze os
benef�cios � restruturar todo o sistema de aplica��o - dizia Straus,
alternadamente erguendo a palma da m�o da mesa e deixando-a
cair, para sublinhar o ponto que pretendia fazer valer.
- Quer dizer, deitar para o lixo o actual sistema de m�dicos,
hospitais, etc., e come�ar tudo de novo? - perguntei eu.
- Isso mesmo. Acabar com tudo. Enfrentemos a situa��o. A
Medicina est� atrasada na maneira como organiza e distribui os
cuidados m�dicos. Pense em quanto a tecnologia mudou durante os
�ltimos quinze ou vinte anos. E a Medicina mudou? N�o. Claro,
temos mais conhecimentos cient�ficos, mas isso n�o ajuda o homem
da rua. Os manda-chuvas ficam com os benef�cios do teste de isoenzinas
rec�m-desenvolvido, apanhando sempre tudo o que surge
de novo. E o pobre do ghetto? Esse n�o apanha nada. Sabia que
quarenta milh�es de americanos nunca foram ao m�dico?
Straus n�o esperou que eu respondesse, continuando ao
ataque, aproximando-se mais da mesa. Era bom que ele n�o tivesse
parado, porque quarenta milh�es parecia-me gente de mais, e eu ia
interrog�-lo a esse respeito. Mas que import�ncia tinha o n�mero
em si, quando se sabia que muitos americanos estavam
praticamente a passar fome? De que serviam os cuidados m�dicos
sofisticados, quando as pessoas n�o tinham alimentos suficientes?
Mas o valor estat�stico perdeu-se na conversa, enquanto Straus
prosseguia.
247
- o que n�s somos � um bando de m�dicos vendedores de rua, a
empurrar carrinhos na era espacial. E a culpa � dos m�dicos!
- Espere a� um pouco - disse eu. N�o podia deixar passar aquela
generaliza��o. - As coisas talvez n�o sejam as melhores poss�veis,
mas h� muitas colheres metidas na sopa.
- Certo, as colheres gananciosas dos ricos. Por certo, uma vez
que os cuidados m�dicos levam sete por cento do produto nacional
bruto... ou seja, cerca de setenta bili�es de d�lares por ano... �
natural que haja muita gente interessada. Mas n�o deixa de ser
verdade que, nos Estados Unidos, os m�dicos fizeram o sistema e o
dirigem. Dirigem os hospitais, as escolas m�dicas e a maior parte
da investiga��o. E, o que � mais importante, os m�dicos controlam o
abastecimento de m�dicos.
- Ent�o e as companhias de seguros e os fabricantes de
produtos farmac�uticos?
- As companhias de seguros? Bom, n�o t�m as m�os muito
limpas, mas, de qualquer forma, n�o interferem no relacionamento
m�dico-paciente... suponho que por receio da AMA (Associa��o
M�dica Americana). Quero eu dizer, se uma companhia for�asse a
nota, a AMA poderia concebivelmente recusar-se a tratar os
pacientes dessa companhia.
- Oh, seja razo�vel, Straus. - Procurei apoio e n�o obtive
qualquer compromisso, excepto de Jan, que abanou vigorosamente a
cabe�a.
- Ent�o acha que a AMA n�o ia fazer uma coisa dessas? -
perguntou Straus.
- N�o posso imagin�-lo sequer.
- Ho-ho, meu amigo. Est� ao corrente da gloriosa hist�ria da
AMA?
- A que se refere em especial? Sei algumas coisas acerca da
organiza��o. - Na verdade estava longe de ser uma autoridade
sobre o assunto, n�o s� porque ele tinha sido ignorado na escola
m�dica, como tamb�m porque... n�o estava muito interessado nele.
- Que quer dizer com algumas coisas acerca da AMA? � membro?
- Bom, mais ou menos. Como sabe, os internos e os residentes
248
podem filiar-se, com uma taxa reduzida. Foi o que eu fiz. Mas n�o fiz
nada. Quero eu dizer que n�o fui a reuni�es, nem votei, nem
participei de alguma maneira.
- A� tem, esse � um dos problemas. � membro. Faz parte da
estat�stica deles. Eles gostam de pensar que somos todos membros,
sendo alguns mais activos que os outros. A AMA afirma que
representa cerca de duzentos mil m�dicos do pa�s, mas sabe uma
coisa?
- O qu�? - Strauss dava nitidamente a impress�o de saber do
que estava a falar.
- Os n�meros deles s�o falseados. Em muitos estados, est�
determinado que, para conseguir privil�gios hospitalares, o m�dico
ter� de se inscrever na sociedade m�dica local, e, desse modo,
torna-se autom�tica e obrigatoriamente membro da AMA. E acha que
algum desses m�dicos se interessa ou pensa sequer no que se
passa com a AMA? Bom, pode ter a certeza de que n�o. Dizem para
si pr�prios, tenho mais que fazer; n�o tenho tempo para isso. Ou
talvez tenham a sensa��o, embora n�o a examinem muito
cuidadosamente, de que a AMA � pol�tica suja. E nisso t�m toda a
raz�o. Mas, gra�as � sua apatia, a nossa doce e velha AMA
apresenta-se em Washington e afirma que fala em nome de
duzentos mil m�dicos, que nunca contradizem essa afirma��o. Para
tornar as coisas piores, n�o s� fala por eles como usa o dinheiro
deles. Sabia que o or�amento da AMA � superior a vinte e cinco
milh�es de d�lares por ano, pagos em quotas pelos m�dicos que
dizem n�o ter tempo para investigar o que est� a passar-se?
- OK, OK. - Tinha que o interromper; estava a ficar
excessivamente excitado. Dois dos residentes do outro lado da
mesa puseram-se de p� e sa�ram, largando os guardanapos nas
bandejas. J� passava das seis e eu tinha que fazer as malas. Mas
n�o podia mandar Straus embora. Naquele momento estava
inclinado para mim, praticamente � frente de Jan, que teve de se
endireitar na cadeira para lhe dar espa�o. Podia ver os olhos dele.
Era um tipo magro e intenso, e os seus olhos brilhavam.
249
- Straus, eu n�o vou defender a AMA, mas � do conhecimento
comum que ela tirou a arte da Medicina do caos em que se
encontrava no s�culo XIX. Antes do relat�rio Flexner, por volta de
1910, o treino m�dico era uma anedota, e foi a AMA que se deu ao
trabalho de alterar isso.
- Sim, n�o h� d�vida de que o fizeram. Mas, deixe que lhe
pergunte, com que fins?
- Que quer dizer com isso? Para rectificar uma situa��o
lament�vel.
- Talvez, mas tamb�m para os seus pr�prios fins.
- Que quer dizer?
- Que eles reduziram o n�mero de escolas m�dicas e as
melhoraram... com isso concordo. Mas ao mesmo tempo passaram a
controlar a aprova��o das escolas m�dicas. o que, traduzido,
significa que eles controlam o abastecimento de m�dicos e o seu
curriculum. Por outras palavras, eles determinaram o percurso social
que os m�dicos em pot�ncia t�m de percorrer, e conseguiram fazer
que os estudantes em pot�ncia se moldem perfeitamente ao
sistema.
- Straus, voc� � um rom�ntico. Tem a certeza de que quer iniciar
o internato?
- Quero ser m�dico, e, se houvesse outra maneira de o ser,
utiliz�-la-ia. Mas, para mudar de assunto, diga-me uma coisa,
Peters, est� consciente do peso da hist�ria que recai sobre si ao
ingressar na profiss�o m�dica na Am�rica?
- Onde quer chegar? - Os dois �ltimos m�dicos que tinham
estado silenciosos � nossa frente, arrastaram as cadeiras e foram-se
embora. Apenas fic�mos eu, Straus e Jan, inclinados sobre uma
mesa cheia de pratos sujos e bandejas desarrumadas.
Straus prosseguiu, imp�vido.
- A AMA tem um record quase impec�vel de nunca apoiar, e
muito menos iniciar, reformas sociais progressivas. Por exemplo, a
AMA foi contra o Servi�o de Sa�de P�blica dar injec��es
antidift�ricas e criar cl�nicas para doen�as ven�reas. E foi contra a
250
Seguran�a Social, o seguro de sa�de volunt�rio e a cl�nica de
grupos. Efectivamente, na d�cada de 30, a AMA classificou os
grupos m�dicos como bolchevistas!
Tartamudeei, tentando dizer qualquer coisa, mas n�o consegui.
- Mais alguns pontos. Sabia que a AMA lutou contra os chefes
hospitalares assalariados a tempo inteiro, e, mais recentemente,
at� contra os empr�stimos federais a juro baixo aos estudantes
m�dicos?
- o qu�? - Eu tinha come�ado a deixar de ouvir Straus quando ele
iniciara a sua lista de queixas, at� que as palavras "empr�stimos" e
"estudantes" se ligaram na minha cabe�a. Ainda devia bastante
dinheiro dos meus tempos da escola m�dica. - Eles foram contra os
empr�stimos aos estudantes de Medicina?
- Pode crer que sim.
- Porqu�? - Aquilo realmente surpreendia-me.
- Sabe Deus! Penso que isso abria a Medicina aos n�o ricos. Mas
um dos aspectos mais pat�ticos desta hist�ria � que, depois de
essas reformas terem sido aceites pela sociedade e a AMA ter sido
obrigada a aceit�-las, a AMA tenta, posteriormente, que elas lhe
sejam creditadas. Faz-nos lembrar osjornais de Orwell no 1984. Todo
este cen�rio miser�vel tem de acabar. Penso que o governo ter� de
o fazer.
- OK, Straus. Est� a tentar dizer-me que, depois de ter passado
por todos estes anos de estudo, e todos os anos que ainda lhe
faltam, estar� disposto a trabalhar para o governo federal? Parece
ser isso que est� a sugerir.
- N�o necessariamente. S� estou a dizer que os m�dicos
conseguiram o controlo e lixaram tudo. A sua responsabilidade �
muito mais ampla do que os seus consult�rios solit�rios, tratando
uma sucess�o de pacientes individuais. T�m de ter em considera��o
a totalidade dos cuidados de sa�de, incluindo o tratamento do
homem do Harlem e da fam�l�a nos Apalaches... � t�o importante
trat�-los como tratar um presidente do Conselho de Administra��o
do Harkness Pavilion. Se os m�dicos falharem de novo, o governo
ter� de tomar o controlo e ordenar � profiss�o m�dica que fa�a o
251
que � necess�rio. Afinal, todos os cidad�os t�m direito a cuidados
de sa�de adequados.
- Isso � f�cil de dizer, mas n�o estou assim t�o seguro. Afinal,
quando algu�m se sente incomodado por uma dor de cabe�a �s
4:30 da manh�, e faz sair um m�dico da cama porque tem direito
aos cuidados de sa�de, o que se passa quanto aos direitos desse
m�dico? At� que ponto uma pessoa se pode sobrepor aos direitos
de outra? N�o h� d�vida de que o m�dico tamb�m tem os seus
direitos.
"E, al�m disso, se os rins de uma pessoa deixam de funcionar,
mas todos os rins artificiais est�o ocupados, quem � que o paciente
processa? A sociedade n�o pode ter um rim artificial � esquina, �
espera de cada cidad�o. A quest�o � que os cuidados de sa�de s�o
uma ind�stria de servi�os prestados por pessoas altamente
treinadas e equipamento sofisticado, e ambas essas coisas est�o
sempre em falta. N�o se podem prometer cuidados de sa�de a
todos quando os recursos s�o limitados.
- N�o vou discutir esse ponto, Peters. o governo federal definiu
claramente os cuidados de sa�de como um direito dos seus
cidad�es, ao aprovar as leis do Medicare e do Medicaid.
- Bom, Straus, gostaria de voltar a falar consigo quando terminar
o seu internato. Mas, at� agora, foi apenas um estudante e,
concordemos num ponto, se as coisas corressem mal, podia p�r-se
de parte e deixar a responsabilidade aos outros. Gostaria de saber
se sentir� o mesmo quando este ano tiver terminado.
Jan tinha estado a escutar em sil�ncio, mais ou menos do meu
lado, pensava eu, Nessa altura interveio.
- Poder� haver problemas com a distribui��o dos cuidados de
sa�de, mas n�o h� d�vida de que temos a melhor Medicina do
mundo, Straus. Toda a gente sabe disso.
- Rid�culo - retorquiu Straus. - Repare na mortalidade infantil. Os
Estados Unidos est�o em d�cimo quarto lugar na preven��o da
mortalidade infantil, em d�cimo oitavo na dura��o prevista da vida
dos indiv�duos do sexo masculino, e em d�cimo segundo...
252
- Espere a�, Straus - disse eu, recusando-me a escutar mais
estat�sticas.
S� em d�cimo quarto na mortalidade infantil? - perguntou Jan.
Straus tinha-a impressionado.
- Jan, minha querida, n�o te deixes enganar pelas estat�sticas.
Pode-se provar quase tudo com estat�sticas, se tratarmos com
amostras diferentes da popula��o. Pode ser uma esp�cie de divis�o
matem�tica arbitr�ria. Straus, o facto de sermos d�cimos quartos ou
seja o que for em mortalidade infantil tem provavelmente a ver com
o facto de termos registos t�o exactos no nosso pa�s. Muitos pa�ses
registam os nascimentos nos hospitais. Todos os outros ficam por
registar.
- S�o muito bons a fazer registos na Su�cia - replicou Straus com
um sorriso.
- Bom, ent�o h� diferentes maneiras de fazer o registo
consoante a altura da gravidez em que a crian�a nasce... se se
tratou de um nado morto, de um morto in utero ou de um caso em
que a crian�a morreu quando era vi�vel. Faz uma grande diferen�a o
ponto onde um determinado pa�s tra�a uma linha na recolha de
estat�sticas sobre a mortalidade infantil.
Straus ergueu as m�os, com as palmas voltadas para mim, e
baixou-as lentamente, enquanto prosseguia.
- Tamb�m n�o vou discutir os detalhes t�cnicos das estat�sticas.
Mas subsiste o facto de os Estados Unidos n�o estarem no topo da
lista, E d�cimo quarto � uma posi��o bastante baixa quando se
pensa no lugar onde estamos na maior parte dos outros servi�os
t�cnicos. Francamente, a Su�cia faz que nos sintamos bastante mal.
- A Su�cia n�o tem os nossos problemas - disse eu vivamente. -
T�m uma popula��o relativamente pequena e homog�nea, ao passo
que os Estados Unidos s�o uma sociedade pluralista. Quer dizer que
um estado com uma Previd�ncia Social socialista como a Su�cia � a
resposta para todos os males sociais e a solu��o para n�s?
- Parece ser a melhor para a mortalidade infantil, e os cuidados
odontol�gicos das crian�as e a longevidade. Mas n�o estou a dizer
253
que os Estados Unidos devessem adoptar o sistema sueco de
governo ou de cuidados de sa�de. S� estou a tentar dizer que h�
lugares onde os cuidados de sa�de em geral s�o melhores que aqui.
o que, traduzido, significa que � poss�vel ter melhores cuidados de
sa�de, e n�s temos de fazer que isso suceda.
- Bom, n�o se cria uma ind�stria de servi�os como a Medicina a
partir do v�cuo, nem se pode legislar abruptamente. As mudan�as
na estrutura social s� ocorrem atrav�s de mudan�as nas atitudes das
pessoas. Estas mudan�as s�o lentas e est�o relacionadas com as
for�as educacionais que delas se ocupam. As pessoas est�o
habituadas � actual rela��o m�dico-paciente. N�o creio que queiram
modific�-la.
- Pelo amor de Deus, Peters, h� quarenta milh�es de pessoas
que nunca viram um m�dico! Como podem ter uma atitude? Homem,
isso � uma desculpa vazia. Mas � t�pica. Voc� e os seus camaradas
conseguem sempre arranjar um milh�o de pequenas raz�es
irrelevantes segundo as quais o sistema presente n�o dever� ser
mudado. � por isso que toda a estrutura tem de ser destru�da. Caso
contr�rio, vamos pondo paninhos quentes, com compromissos como
o Medicare ou o Medicaid.
- Ent�o, at� mesmo o Medicare e o Medicaid s�o maus. Straus,
voc� � um aut�ntico terrorista. V� tudo negro do seu ponto de vista.
Eu acho que a Medicare e a Medicaid s�o boas leis. o �nico
problema que consigo ver nelas � que lixaram o sistema de ensino
permitindo que muitos dos pacientes que n�s trat�vamos tivessem o
seu m�dico particular, que n�o deixa os internos e os residentes
ocuparem-se do caso. o resultado foi termos perdido uma larga
popula��o de pacientes com quem pod�amos aprender.
- Bom, isso � bastante importante - disse Straus. - E � um
indicativo da solu��o do Penso R�pido para os gigantescos
problemas sociais. Todavia, o maior problema do Medicare e do
Medicaid � que puseram mais dinheiro em jogo, criando maior
procura. Se a procura aumentar e o fornecimento se mantiver igual,
os pre�os sobem.
- Claro, claro. - Eu come�ava a ficar um pouco irritado. - o que
254
pretende � outra burocracia monol�tica do governo, com milh�es de
arm�rios de arquivo e m�quinas de escrever. Mas isso custa muito
dinheiro. o custo dos cuidados de sa�de talvez subisse, e n�o
descesse, com essa burocracia. E suponho que est� a ver todos os
m�dicos a receber um sal�rio do governo. Isso havia de ser
interessante! A sociedade iria sentir um belo choque quando
descobrisse de quanto dinheiro precisaria para pagar a esses
m�dicos. o retorno financeiro iria subir, quando o m�dico
aprendesse rapidamente a comparar-se comum piloto a�reo
sindicalizado, que pode ganhar cerca de cinquenta mil d�lares por
ano num m�s de sessenta e cinco horas. Quantos m�dicos seriam
precisos para manter o sistema de cuidados de sa�de se cada un
deles trabalhasse sessenta e cinco horas por m�s? Al�m de todos os
benef�cios da reforma...
- Isso � uma...
- Deixe-me acabar, Straus. P�r todos os m�dicos a receber
sal�rio teria outros efeitos mais subtis. Quanto se recebe um sal�rio
independentemente do que se fa�a, isso tem um efeito sobre a
nossa motiva��o, em situa��es marginais. Quando nos arrastamos
para fora da cama �s 4 horas da madrugada, queremos receber
qualquer coisa por isso, algo mais que a satisfa��o que sentimos.
Na maior parte dos casos, n�o nos d� satisfa��o nenhuna. Pelo
contr�rio.
"Afinal, o homem do lixo, o piloto, toda a gente recebe horas
extraordin�rias. Pois bem, o m�dico tamb�m as vai querer, se n�o,
n�o se arrasta para fora da cama. Deixe-me que ponha as coisas de
outra forma. Quando se trabalha por um sal�rio, tem-se um hor�rio
espec�fico. Chegam as cinco horas e o m�dico assalariado lava as
m�os e vai para casa. Por acaso at� sei que, despido de toda a
mitologia, um m�dico � um ser humano bastante vulgar.
- Posso falar agora? - perguntou Straus.
- Fa�a o favor.
- V�rias coisas. N�mero um: um servi�o nacional de sa�de n�o �
a �nica resposta. Est� a tirar conclus�es precipitadas. Os planos de
255
sa�de pr�-pagos, por exemplo, funcionam bem, aumentando ainda a
produtividade dos m�dicos individuais por diversas raz�es. o papel
do governo poderia ser simplesmente garantir que toda a gente
est� coberta, de uma maneira ou de outra, com, pelo menos, um
pacote de cuidados de sa�de b�sicos de boa qualidade. E n�mero
dois: n�o concordo com as suas opini�es acerca do m�dico que est�
a dormir. Ao mesmo tempo, acredito que o m�dico ter� de ser pago
em rela��o a uma escala racional que o compare favoravelmente
com os pilotos das linhas a�reas, ou com os canalizadores, ou seja
com quem for, tendo em aten��o a dura��o e investimento do seu
treino, bem como as longas horas do seu trabalho. Mas, acima de
tudo, acredito que o prazer profissional de praticar medicina far�
que o m�dico ultrapasse os inc�modos do seu dia - especialmente
se for aliviado do fardo da papelada e de outras tarefas f�teis que
ocupam vinte e cinco por cento do tempo do m�dico que trabalha a
solo. Al�m disso...
- Dr. Peters, Dr. Peters. - o meu nome soou subitamente nos
altifalantes perto do tecto e ecoou por toda a sala. Straus continuou
a falar enquanto eu me dirigia ao telefone a um canto.
- Al�m disso, na cl�nica de grupo - prosseguiu Straus - h� mais
possibilidades de revis�o. Os m�dicos podem vigiar-se entre si e
prestar conselhos e cr�ticas quando for necess�rio. E fichas. As fichas
dos pacientes seriam muito melhores, porque seriam organizadas e
completas, quer o doente fosse visto por um m�dico de cl�nica geral
ou por um especialista. - Straus estava praticamente a gritar quando
cheguei junto do telefone e liguei para a telefonista. Depois, gra�as
a Deus, calou-se.
A telefonista p�s-me em comunica��o com o andar da cirurgia
particular e depois tive de esperar enquanto procuravam uma
enfermeira.
- Dr. Peters.
- Diga.
- Temos uma doente do Dr. Moda que est� com dificuldades
respirat�rias. Ele quer que o interno a veja. Al�m disso, preciso de
uma receita para um laxante para uma das doentes do Dr. Henry.
256
- Qual � a situa��o do problema respirat�rio?
- N�o muito m�. Ela sente-se bem e est� sentada.
- o Dr. Straus vai j� para l�.
- Obrigada.
Voltando para tr�s, reparei que toda a cafetaria estava vazia,
s� restando n�s tr�s. o sol tinha desaparecido e a ilumina��o da
sala passara de uma luz viva que contrastava fortemente com a
sombra para um brilho suave e difuso. Era um cen�rio pac�fico, que
se tornava ainda mais calmo gra�as � alegria que eu sentia de
poder mandar Straus ver a senhora com o problema respirat�rio e
ocupar-me eu do caso de obstipa��o.
- Peters.
- Diga. - A voz do outro lado do fio parecia-me conhecida. - Fala
Straus. Era de calcular. Parece estar muito ocupado. N�o consigo
evitar. Toda a gente est� a ficar irritada - disse ele. - Olhei para o
rel�gio. Dez e meia.
- Bom, qual � a �ltima crise? - perguntei.
- Morreu uma velhota. Com uns 85 anos. Uma doente particular
da Enfermaria F, no segundo andar.
Houve uma pausa. Eu n�o falei, aguardando que ele me desse
mais pormenores do problema. Ouvia-se a respira��o de Straus do
outro lado da linha, mas, aparentemente, ele nada mais tinha a
acrescentar. Acabei por falar eu.
- OK, portanto morreu uma velhota. E qual � o problema?
- N�o h� propriamente um problema. Mas importa-se de vir c�
ver?
- Oi�a l�, Straus, ela est� morta, certo?
- Certo.
- Bom, e que � que espera que eu fa�a? Um milagre? Houve
outro sil�ncio breve.
- Pensei que quisesse v�-la.
- Muit�ssimo obrigado, meu amigo. Mas acho que n�o.
- Peters.
- Ainda c� estou.
257
- Que � que se faz com a fam�lia e a papelada?
- Pergunte �s enfermeiras. Elas j� est�o batidas nisso. S� ter�
que assinar uns pap�is, avisar a fam�lia e tratar da aut�psia.
- Uma aut�psia? - Mostrou-se genuinamente surpreendido.
- Claro, uma aut�psia.
- Pensa que o m�dico particular quer uma aut�psia?
- Bom, tem de querer, de certeza. Se n�o quiser, ter� que o
dizer. Mas devem fazer-se aut�psias de todas as pessoas que
morrem aqui. Talvez n�o seja f�cil, mas veja se convence a fam�lia.
- Est� bem, vou tentar, mas n�o garanto nada. N�o sei se serei
capaz de transmitir grande entusiasmo por uma aut�psia.
- Tenho a certeza de que consegue resolver isso. Ciao.
- Ciao.
Ele desligou e eu tamb�m, pensando uma vez mais na mulher
amarela na sala das aut�psias da escola m�dica. Jan interrompeume.
- Alguma coisa errada? - perguntou.
- N�o. Morreu uma pessoa e o Straus quer saber o que h�-de
fazer.
- Vais at� ao hospital?
- Est�s a gozar comigo? Jan estava a ajudar-me a fazer as malas.
Na verdade, estava apenas a fazer-me companhia. N�o
precis�vamos de uma desculpa para estar juntos; t�nhamos passado
bastante tempo juntos, ultimamente. Tanto, na verdade, que a
minha partida iminente lan�ava uma sombra sobre a noite, embora
tiv�ssemos deixado de falar desse assunto.
O ponto em quest�o era saber se eu a amava suficientemente -
palavras dela - para lhe pedir que me seguisse para o hospital onde
seria residente. Eu tinha-o implicado diversas vezes, mas algo me
impedia de lho pedir directamente. o que eu tentara dizer-lhe era
que queria que fosse ela a tomar a decis�o, sem a minha
interfer�ncia directa. N�o queria ter a responsabilidade de a for�ar
a vir comigo. Era assim que eu via a situa��o. E se n�o nos
entend�ssemos depois de eu terminar o per�odo como residente? Eu
258
for�ara-a a deixar o Havai, e sentir-me-ia indubitavelmente preso
pela responsabilidade, e n�o queria que isso sucedesse. Queria
que ela fosse, isso sim, mas por vontade pr�pria.
Jan e eu d�vamo-nos bem. Fora um al�vio construir um
relacionamento importante com ela, ap�s a desgra�a de Karen
Christie e o seu noivo chanfrado. Embora eu ainda tivesse ido a
casa de Karen algumas vezes depois da minha confronta��o com o
namorado dela, acabei por me aperceber de que n�o podia
continuar a andar com ela. Por isso parei.
O telefone tocou de novo.
- Fala da Morgue - respondi, numa voz alta e animada.
- Peters, � voc�?
- Ao seu "cervix", meu amigo.
- Por momentos assustou-me. N�o me fa�a isso - disse Straus.
- Est� bem, vou tentar ser mais educado. Que se passa?
- Recebi uma chamada da U. C. I. e h� l� um doente com
dificuldades respirat�rias. A enfermeira disse que provavelmente era
um edema pulmonar. Parece que o m�dico particular est� com receio
de uma falha card�aca.
- H� l� umas enfermeiras bestiais, hein, Straus? At� fazem
diagn�sticos. Isso � que � servi�o de primeira. Concorda com elas?
- Ainda n�o vi o doente. Vou agora para l�. Resolvi telefonar-lhe
para o caso de querer seguir a ac��o desde o princ�pio.
- Straus, a sua amabilidade aquece-me o cora��o. Mas por que
n�o vai at� l�, v� o que se passa, e me telefona depois? OK?
- OK. Telefono-lhe logo.
- �ptimo. - Jan estava absorvida a tentar meter os meus livros de
Medicina em diversas malas. Era obviamente um problema de
complexidade, que exigia uma solu��o igualmente dr�stica. Tinha
que decidir quais os livros que ia deixar - uma trag�dia terr�vel para
um m�dico. H� muito quem aprecie os livros, mas os m�dicos
adoram-nos e comunicam com eles de uma maneira quase sensual.
Se um m�dico for realista, apercebe-se rapidamente do facto de que
nunca estar� � altura da sua biblioteca. Consequentemente, rodeiase
de livros, procurando avidamente motivos para comprar um novo
259
comp�ndio, quer venha a l�-lo ou n�o. Os livros s�o o colch�o de
seguran�a de um m�dico, e era o que sucedia comigo.
A simples ideia de me separar de alguns dos meus livros
parecia-me sacr�lega - at� mesmo aquele comp�ndio de psiquiatria,
ou aquele outro de urologia. A urologia n�o era, de modo algum, a
minha especialidade preferida. Perguntava a mim mesmo, muitas
vezes, como poderia algu�m passar o resto da sua vida a tratar do
sistema hidr�ulico- embora a especialidade n�o parecesse ser assim
t�o m�, visto os urologistas parecerem pessoas felizes, em geral.
Tinham, indiscutivelmente, o melhor repert�rio de piadas obscenas.
- N�o vais conseguir meter a� todos esses livros - disse Jan. -
Vamos tir�-los todos para fora e recome�ar. Vamos tentar p�-los uns
em cima dos outros, em vez de os deitarmos sobre a roupa. -
Mostrei-lhe o que pretendia, equilibrando aproximadamente vinte
quilos do Manual Completo de Psiquiatria a um canto da mala.
Nessa altura, o telefone tocou outra vez. Era Straus; a sua voz
transmitia uma sensa��o de urg�ncia.
- Peters?
- Que foi agora, Straus?
- Lembra-se do doente de que lhe falei h� pouco, o que as
enfermeiras diziam que tinha um edema pulmonar?
- O que sucedeu ?
- Bom, acho que tem mesmo um edema pulmonar. Estou a ouvir
ralos borbulhantes com o estetosc�pio em ambos os pulm�es,
quase at� aos v�rtices.
- OK, Straus. Acalme-se. J� telefonou ao residente de servi�o?
- J�.
- Que � que ele disse?
- Disse que lhe telefonasse a si.
- Oh, bestial. - Hesitei, coligindo os pensamentos. - � um doente
particular?
�. Do Dr. Narru, ou qualquer coisa parecida. � um caso de
aprendizagem? N�o sei. Ent�o informe-se, Straus. - Brinquei com a
camp�nula do estetosc�pio enquanto Straus desapareceu da linha.
260
Jan estava a fazer progressos com os livros; come�ava a parecer que
iria conseguir guard�-los todos.
- Sim, � um caso de aprendizagem, Peters - disse Straus.
- Telefonou ao Dr. Narru?
- Claro. Foi a primeira coisa que fiz.
- Que � que ele disse?
- Disse que fosse fazendo o necess�rio, que ele vinha c� depois
para ver o que se passava, quando acabasse as visitas da noite.
Com o indicador, puxei o rel�gio de forma a poder ver o
mostrador. Onze e cinco. Ou Narru estava a gozar com Straus, ou
fazia rondas muito tardias - mesmo muito tardias. De certo modo,
achava isso imposs�vel.
- Jan, por que n�o metes o manual cir�rgico do Christopher antes
desses livros pequenos? S� um minuto, Straus. O Christopher � esse
encarnado grande. Esse mesmo. - Ia dar mesmo � justa. - Muito bem,
Straus, que tipo de cirurgia sofreu o tipo?
- N�o tenho acerteza. Uma cirurgia abdominal qualquer. Tem um
penso no abd�men.
- Ele tem febre?
- Febre? N�o sei.
- Est� a tomar digitalina?
- N�o sei. Escute, eu s� o auscultei.
- Escutou o cora��o?
- Mais ou menos.
-Tem um ritmo tipo galope?
- N�o tenho a certeza - respondeu ele, evasivamente. Santo
Deus, aquele tipo interessava-se mesmo, pensei eu
sarcasticamente.
- Straus - disse. - Quero que examine o paciente, tendo em vista
tr�s diagn�sticos poss�veis: edema pulmonar, que ele
provavelmente tem, embolia pulmonar e pneumonia. Leia a ficha e
descubra a hist�ria card�aca dele. Entretanto, fa�a uma radiografia
ao t�rax, uma contagem de sangue completa, uma an�lise � urina,
um ECG e tudo o mais que lhe apetecer. Ele est� prostrado?
- N�o, est� muito alerta.
261
- OK, ent�o d�-lhe 10 mg de morfina e ponha-o a oxig�nio com
uma m�scara. Vigie-o cuidadosamente quando lhe der o oxig�nio.
Depois de ter tudo organizado, telefone-me outra vez.
Ia desligar, quando me lembrei de outra coisa.
- S� outra coisa. Se ele nunca tomou digitalina... pelo menos
durante as duas �ltimas semanas... d�-lhe 1 mg de digitoxina IV.
Mas lentamente. Ainda a� est�, Straus?
- Estou - disse ele.
- Provavelmente dev�amos dar-lhe tamb�m um diur�tico, para o
livrar desse excesso de fluido. Experimente cerca de 25 mg de �cido
etacr�nico. - Sabia que aquilo era suficientemente poderoso para
fazer urinar uma pedra. Poderoso - o meu medo interior dos
diur�ticos fez-me pensar duas vezes e mudei de ideias.
- Pensando melhor, aguente o diur�tico at� termos a certeza do
edema pulmonar. Se ele tiver pneumonia, n�o vai adiantar muito. - A
senhora idosa com o cancro, que eu tinha morto com o diur�tico,
perseguiu-me por um momento; ela tinha morrido de pneumonia.
Finalmente, desliguei.
- Hei. Jan, formid�vel. - Ela conseguira introduzir todos os livros
excepto um pequeno. O volume que restava era um daqueles que
costumamos deitar fora, um daqueles livros oferecidos por uma
companhia de produtos farmac�uticos, na esperan�a de convencer
algu�m de que um dos seus medicamentos � a resposta para todos
os males patol�gicos. Nunca o tinha lido, nem tencionava faz�-lo. No
entanto, enfiei-o numa das minhas malas j� cheias.
Com excep��o dos utens�lios para a barba e outros artigos de
toillete, as roupas que iria usar no dia seguinte e a bata e as cal�as
brancas sujas que usava naquele momento, todas as minhas tralhas
estavam emaladas. Os transportadores viriam buscar as malas
grandes na manh� seguinte; as malas de ni�o iriam comigo,
juntamente com alguma bagagem de m�o que inclu�a um grande
peda�o de coral. Finalmente, estava pronto. Podia descontrair-me e
gozar o que restava do meu ano no Havai.
Jan escolheu esse momento para largar a sua bomba e informar-
262
me abruptamente que ia para casa. Precisamente quando
poder�amos esquecer tudo e ficar juntos, ela decidiu que tinha de irse
embora. Foi, obviamente, uma grande surpresa, visto que eu
tinha partido do princ�pio de que dormir�amos juntos, como
habitualmente.
- Jan, pelo amor de Deus, por que tens de ir-te embora? Fica, por
favor. � a minha �ltima noite.
- Precisas de uma boa noite de sono antes da viagem - disse
ela, de modo evasivo.
- Essa agora! - Olhei para o seu rosto bronzeado. Ela fitou-me,
com a cabe�a levemente inclinada para a frente e para um lado, num
jeito coquete e sabido, sugerindo que a sua s�bita reserva se
baseava em complicadas raz�es femininas. Mas eu n�o estava
muito certo disso. Podia compreender o seu desejo de se ir embora,
se ele derivasse de um certo desd�m pela rotina artificial da �ltima
noite, de n�o querer reduzir o acto de fazermos amor a uma esp�cie
de ritual para celebrar uma era passada. A proximidade de que
normalmente goz�vamos n�o teria provavelmente existido, de
qualquer forma, visto que est�vamos ambos preocupados com outros
pensamentos.
Deu-me um beijo leve, disse que nos ver�amos na manh�
seguinte e flutuou sem ru�do para a porta. Aconteceu tudo com
excessiva rapidez para me permitir uma digest�o mental.
Pensei fugazmente em ir at� � U. C. I, embora n�o o quisesse
verdadeiramente fazer, mas acabei por encolher os ombros perante
a ideia, pensando na racionaliza��o que Straus teria de fazer
sozinho.
Por isso, decidi tomar um duche - e mal tinha come�ado a tom�lo
quando a campainha do telefone soou. A �nica maneira que eu
tinha de afogar o som era colocando a cabe�a mesmo por baixo do
chuveiro. N�o devia ter deixado a porta da casa de banho aberta.
Mas o h�bito ganhou. Ao quarto toque, corri para o meu quarto e
peguei no auscultador, enquanto um charco aos meus p�s come�ava
rapidamente a aumentar em periferia.
263
- Peters, � o Straus.
- Que surpresa!
- Sabe uma coisa? Boas not�cias!
- N�o me importava nada de receber algumas.
- O paciente do edema pulmonar de que lhe falei pertence ao
servi�o m�dico, n�o ao cir�rgico, e o interno do servi�o m�dico
assumiu o controlo.
- Ent�o e a opera��o dele? - perguntei, muito surpreendido.
- N�o tinha sido operado. Pelo menos recentemente. O penso
estava a cobrir uma colostomia que ele tinha feito h� uns anos.
- Parab�ns, Straus. O seu primeiro �xito cl�nico como interno.
Mas por que n�o fica por l� na mesma? A menos que, naturalmente,
tenha qualquer outra coisa.
- Sinto muito, n�o posso ficar. Fui chamado para uma cirurgia. �
a extrac��o de uma r�tula. Um acidente de autom�vel, julgo eu. A
menos que queira ir voc�. Nesse caso, fico por aqui.
Uma patelectomia, um caso ortop�dico! Estava a tornar-se bem
claro para mim quanto iria apreciar ser um residente em vez de um
interno. Imagine-se, poder mandar algu�m fazer uma patelectomia �
meia-noite! Era a felicidade pura.
- N�o o privo desse prazer, Straus. V� l� esterilizar-se. - A
cirurgia ortop�dica apavorava-me. Antes da escola m�dica, eu tinha
a ilus�o de que a cirurgia era uma ci�ncia exacta e delicada. Depois
tinha vindo o holocausto da minha primeira opera��o ortop�dica,
onde assisti aos mais crus processos de pregar pregos, brocar e
partir ossos que eu poderia imaginar. N�o s� isso - a viol�ncia tinha
sido acompanhada de coment�rios no g�nero de "Fa�a aqui uma
radiografia para eu ver para onde foi o raio do prego"; e, depois de
observar a radiografia "Diabo, falhei por completo o fragmento da
anca. Vamos meter outro, mas desta vez vou apontar ao umbigo".
Tais experi�ncias tinham rapidamente eliminado a cirurgia
ortop�dica como especialidade para mim. A neurocirurgia tinha sido
posta de parte pouco depois, quando vi o melhor neurocirurgi�o de
Nova Iorque parar durante um caso e espreitar para o buraco que
tinha feito no c�rebro do paciente, perguntando "Que ser� aquela
264
coisa cinzenta-clara?". Ningu�m respondeu - afinal ele estava a falar
consigo mesmo - mas foi o fim da neurocirurgia para mim. Se ele n�o
sabia onde estava ao fim de vinte anos, n�o havia esperan�as de
eu chegar alguma vez a saber.
Com todos os livros m�dicos emalados, n�o tinha que ler antes
de adormecer. Depois lembrei-me dovolume dafirma de produtos
farmac�uticos que tinha metido na mala de m�o. Fui busc�-lo e
recostei-me na fresca almofada branca. Muito apropriadamente,
tratava-se de A Anatomia do Sono. Voltando-o, fiquei a saber que
pretendia vender um comprimido para dormir. Abri o volume ao
acaso e comecei a ler. Com tanta coisa na cabe�a, consegui acabar
uma p�gina inteira antes que os meus olhos come�assem a fecharse.
O toque agudo do telefone soou antes mesmo que eu tivesse
tempo de iniciar um sonho decente. Com o p�nico habitual, agarrei
no auscultador como se a minha vida dependesse disso. Quando a
telefonista me p�s em contacto com a enfermeira que me tinha
chamado, j� estava bem orientado quanto � hora, local e pessoa.
- Dr. Peters, fala a Enfermeira Cranston da F-2. Desculpe acord�lo,
mas Mrs. Kimble caiu da cama. Importa-se de vir c� v�-la, se faz
favor?
O mostrador luminoso do meu despertador revelou-me que tinha
dormido cerca de uma hora.
- Mrs. Cranston, esta noite temos um novo interno. Chama-se
Straus. Que tal telefonar-lhe para ele resolver esse problema?
- A telefonista j� tentou - disse ela. - Mas o Dr. Straus est� numa
cirurgia.
- Merda.
- Como disse, Doutor?
- A paciente est� bem? - eu estava a demorar a situa��o.
- Est�, parece estar bem. Vem, Doutor? - Resmunguei qualquer
coisa que implicava a afirmativa e desliguei. Era n�tido que ainda
n�o tinha deixado o internato. At� conseguir tirar o meu corpo do
alcance deles, haveria sempre mais pacientes a cair da cama. Ficar
265
ali a pensar no assunto foi um erro. Voltei a adormecer.
Quando o telefone tocou de novo, reagi com o p�nico habitual,
perguntando a mim mesmo quanto tempo tinha estado a dormir. A
telefonista esclareceu-me - vinte minutos, disse ela - e, experiente
como era, poupou-me o esfor�o de me desculpar, sugerindo que eu
tivesse adormecido. Afinal, acontecia a muita gente, mesmo em
casos de emerg�ncia. Se eu n�o pusesse imediatamente os p�s no
ch�o frio, as possibilidades de me levantar deca�am rapidamente.
Durante algum tempo, o meu truque tinha consistido em colocar o
telefone a alguns metros da cama, fora do alcance da m�o, para ter
que sair do ninho quente antes de o atender. Todavia, com tantos
pedidos de laxantes que eu podia resolver na horizontal, acabei por
abolir esse recurso e voltei a colocar o telefone perto da cama.
Depois da segunda chamada, levantei-me logo e vesti-me
rapidamente. Com um pouco de sorte, poderia regressar � cama
dentro de vinte minutos. O meu record estava ainda em dezassete
minutos.
As luzes fluorescentes do corredor, as portas do elevador, as
estrelas no c�u - na realidade, toda a viagem at� � Enfermaria F
escapou ao registo no meu c�rebro. S� comecei a funcionar como
uma pessoa consciente quando me vi frente a frente com Mrs.
Kimble.
- Como est�, Mrs. Kimble? - perguntei, tentando avaliar a sua
idade � fraca luz do candeeiro da mesa-de-cabeceira. Calculei que
tivesse 55 anos aproximadamente. Estava bem arranjada e
penteada e deu-me a impress�o de ser uma pessoa especialmente
meticulosa. O seu cabelo estava puxado para tr�s num rolo
apertado, com fios grisalhos.
- Sinto-me muito mal, Doutor, muito mal mesmo - disse ela.
- Onde � que se magoou? Bateu com a cabe�a quando caiu?
- Santo Deus, n�o. Nem sequer me magoei. Nem cheguei a cair,
a falar verdade. Sentei-me.
- N�o caiu da cama?
- N�o, de maneira nenhuma. Tinha voltado da casa de banho e
266
estava acocorada ali. - Apontou para o ch�o, aos meus p�s. - Estava
a tentar tirar a minha agenda da mesa-de-cabeceira quando perdi o
equil�brio.
- Bom, ent�o agora tente dormir, Mrs. Kimble.
- Sr. Doutor.
- Diga. - Olhei por cima do ombro, pois j� me tinha voltado em
direc��o � porta.
- Importa-se de me dar qualquer coisa para os meus intestinos?
H� cinco dias que n�o fa�o nada decente. Olhe, veja.
Com grande esfor�o, estendeu a m�o e abriu a gaveta da mesade-
cabeceira, retirando um livro de notas preto de dez cent�metros.
Teve de se estender tanto para retirar o livro, que receei que
acabasse por cair, afinal. Aproximei-me da cama e estendi os bra�os
por debaixo do corpo dela.
- Veja aqui, Sr. Doutor. - Abriu o livrinho e percorreu com o dedo
uma lista de dias cuidadosamente anotada. A cada dia seguia-se
um gr�fico e a descri��o completa da sua actividade intestinal:
forma, cor e esfor�o despendido. Abruptamente, o seu dedo detevese
num dos dias.
- Veja, h� cinco dias foi a �ltima evacua��o normal que tive. E
mesmo essa n�o foi completamente normal, porque n�o era
castanha. Era verde-azeitona e deste tamanho. - Ergueu a m�o
esquerda, definindo com o polegar e o indicador um c�rculo de um
cent�metro de di�metro.
Que poderia eu dizer-lhe que revelasse compet�ncia e
interesse, e, o que era mais importante, me libertasse
imediatamente? Olhei da agenda para a cara dela, procurando uma
resposta sem a encontrar. Passei a bola.
- Tenho a certeza de que o seu m�dico particular saber� muito
melhor que eu o que lhe conv�m, Mrs. Kimble. E agora, tente dormir
um pouco.
De regresso ao posto das enfermeiras, escrevi qualquer coisa na
sua ficha sobre a alegada queda; era preciso escrever sempre
qualquer coisa depois de tais "quedas". Depois iniciei a viagem de
regresso para o leito que me aguardava.
267
- Bom, Straus - ruminei. - Que valeria este pequeno epis�dio
segundo o teu novo sistema? Prazer profissional, uma treta!
A minha f� nos avi�es n�o � ilimitada. Na verdade, n�o acredito
verdadeiramente no princ�pio da aeron�utica. Mas tenho de
confessar que os motores Pratt and Whitney pareciam robustos e
dignos de confian�a. Ouvia-os ronronar suavemente enquanto faziam
o seu trabalho, e o enorme bojo do 747 elevou-se do solo, deixando
para tr�s o Havai e o meu internato. Estava sentado junto da janela,
do lado esquerdo do aparelho, junto de um casal de meia-idade que
vestia camisas havaianas floridas iguais. A minha bagagem de m�o
tinha constitu�do um problema - onde met�-la toda - e eu levava no
colo o meu peda�o de coral, que n�o tinha um feitio natural que lhe
permitisse caber facilmente num moderno transporte p�blico.
As despedidas finais tinham sido bastante moderadas, afinal.
No aeroporto, Jan tinha-me "leiado" quatro vezes, como se diz em
terminologia havaiana. Dois dos leis (Colar de flores havaiano) eram
feitos de pekaki e o seu aroma delicado flutuava no ar � minha
volta. N�o se falara mais de Jan nem eu do futuro. Escrever-nos�amos.
Sentia emo��es mistas em rela��o � minha partida do Havai,
mas nenhuma ambival�ncia quanto ao facto de o meu internato ter
terminado. Mas j� estava a notar em mim uma curiosa tend�ncia
para recordar e real�ar os bons momentos, o que tinha havido de
divertido, e para me esquecer do sofrimento e do esfor�o que me
dominara durante esse tempo. O corpo tem uma mem�ria curta.
Quando o avi�o se inclinou para a esquerda, olhei pela janela
para a ilha de Oahu pela �ltima vez. A sua beleza era ineg�vel. As
montanhas escarpadas projectavam-se para o c�u, cobertas por uma
vegeta��o aveludada e rodeadas por um brilhante mar azul-escuro.
Comprimindo o nariz contra o vidro, consegui ver, l� em baixo, o s�tio
onde as ondas se quebravam contra o recife exterior de Waikiki,
formando longas repercuss�es de espuma branca. Iria sentir a sua
falta.
268
Pensei em Straus, que iniciava o internato, com o ano inteiro �
sua frente. Naquele momento, estava a passar por uma das
experi�ncias por que eu passara. A vida repetia-se. Straus e
H�rcules - poderia ser uma grande confronta��o. Imagine que as
arestas vivas do idealismo de Straus em breve estariam embotadas,
depois de quatro ou cinco colecistectomias com H�rcules.
Como uma grande ave em movimento lento, o avi�o colocou-se
numa posi��o est�vel, a caminho da Calif�rnia. A �nica prova de que
se encontrava em movimento era uma vibra��o quase impercept�vel.
A ilha j� tinha desaparecido, tendo sido substitu�da por um
horizonte indistinto, onde a ampla extens�o do oceano se misturava
com o c�u. Pensei em Mrs. Takura, no beb� nascido dentro do VW,
em Roso, e de novo em Straus. N�o concordava com tudo o que
Straus tinha dito, mas ele tinha-me feito aperceber-me do pouco que
sabia, do pouco que eu me interessava pelo sistema, excepto,
naturalmente, quando me afectava directamente. Imagine-se, a AMA
a tentar bloquear o meu empr�stimo federal de baixo juro para
entrar na escola m�dica! Impulsivamente, inclinei-me um pouco para
a direita, agarrado ao coral, e tirei a carteira do bolso. Recostandome
de novo, procurei entre os meus cart�es e licen�as at� que o
encontrei. "O m�dico cujo nome e assinatura figuram neste cart�o �
membro efectivo da Associa��o M�dica Americana." As palavras
eram impressionantes. Sugeriam uma ades�o e um compromisso
para com uma institui��o poderosa. Tinha trabalhado durante cinco
longos anos e conseguira l� chegar.
Nessa altura senti a primeira sacudidela, e depois outra, mais
forte, mais n�tida, e o letreiro acendeu-se "Senhores passageiros, �
favor porem os cintos. Esperamos alguma turbul�ncia local", disse
tranquilizadoramente a hospedeira.
Continuei ali sentado,junto do casal das camisas floridas,
agarrado ao meu peda�o de coral e dobrando nervosamente o meu
cart�o da AMA para tr�s e para diante, para tr�s e para diante, at�
que ele se partiu pela dobra e ficou dividido em dois.
A �LTIMA PALAVRA
269
O Dr. Peters fez a sua acidentada viagem da escola m�dica,
passando pelo internato, at� ao ponto em que a sociedade o
reconheceu como um m�dico completo. Poder� solicitar, e receber,
sem d�vida, uma licen�a para praticar Medicina e Cirurgia em
qualquer estado da Uni�o. Isso assinalar� que se encontra pronto
para assumir todas as responsabilidades que uma tal licen�a
confere.
Gra�as ao seu treino rigoroso, pode-se partir do princ�pio de
que se encontra academicamente preparado. Mas estar� o Dr.
Peters psicologicamente equipado para praticar a Medicina que uma
moderna sociedade humana tem o direito de esperar?
Os m�dicos da "velha guarda" dir�o que sim. Para um grande
n�mero deles, as aberra��es da personalidade s�o apenas a
garantia de que as "partidas" a que foi sujeito durante o internato o
iniciaram numa fraternidade. o internato foi duro para eles, e, por
isso, deveria ser igualmente duro para a gera��o seguinte.
Endurece-os - aqueles jovens s�o moles de mais. Esta l�gica n�o
poder� sugerir que os m�dicos mais velhos estar�o provavelmente a
sofrer dos mesmos problemas psicol�gicos que o Dr. Peters, e pelos
mesmos motivos? E que sucede ao paciente durante estes exerc�cios
juvenis?
A posi��o superior tradicional - ou antes, antiquada - do m�dico
na escala mundial de valores sociais e, nos Estados Unidos, o
respeito corrente pelas realiza��es tecnol�gicas, levou a uma
atitude de crescente venera��o pelo m�dico. Como corol�rio directo
desta adora��o por tudo o que diz respeito � Medicina, tornou-se
impens�vel p�r em quest�o o controlo da profiss�o m�dica sobre a
educa��o do m�dico em embri�o. As escolas m�dicas e os
programas de treino m�dico t�m estado relativamente livres para
fazer o que querem. Ningu�m pergunta porqu�.
Todavia, nem sempre foi assim. o treino dos m�dicos nos
Estados Unidos foi, certa vez, seriamente posto em causa, no in�cio
do s�culo, por um grupo extram�dico que foi nomeado para estudar
a prepara��o m�dica americana. Esse grupo, cujo ponto de
270
refer�ncia � o relat�rio Flexner, exp�s impiedosamente as
abomin�veis condi��es em que ela ent�o se verificava. A maior
parte das escolas m�dicas, dizia, eram simples f�bricas de
diplomas, a que faltavam por completo os controlos acad�micos.
Indirectamente, o relat�rio acusava a pr�pria profiss�o m�dica de
fazer mau uso da carta branca que lhe era dada por um p�blico em
adora��o.
Este documento teve grande alcance. Iniciou uma melhoria
gradual e implac�vel dos padr�es acad�micos das escolas m�dicas.
Mas os seus efeitos n�o foram totalmente ben�ficos. Por um lado, o
relat�rio possibilitou que a profiss�o m�dica - na pessoa da
Associa��o M�dica Americana - apertasse mais o seu jugo sobre a
educa��o m�dica, reduzindo o n�mero de escolas m�dicas e
instala��es de treino - uma medida que se tornava necess�ria,
alegou, para elevar a qualidade da instru��o.
E a melhoria e padroniza��o do curriculum que o relat�rio
instigou fez que o p�ndulo reca�sse sobre a inclus�o de mais cursos
cient�ficos e laboratoriais no estudo da Medicina. Mas o p�ndulo
n�o parou de girar at� chegar ao ponto de invadir a medicina
cl�nica. (Algu�m se deteve para pensar no paciente?) Um dos
resultados � que os actuais licenciados em Medicina est�o
amplamente equipados com as mais recentes hip�teses sobre as
mais bizarras doen�as e raros processos metab�licos, mas, muitas
vezes, n�o conhecem os simples factos cl�nicos necess�rios para
tratar uma constipa��o vulgar ou para lidar humanamente com um
moribundo que se encontra para al�m da simples ajuda m�dica.
Cresce na Am�rica a sensa��o de que poder� ser necess�rio
outro "relat�rio Flexner" para trazer reformas ao treino m�dico. Nunca
houve um exame objectivo da educa��o psicol�gica dos m�dicos.
Qualquer an�lise madura, honesta e directa teria que a considerar
com a mesma seriedade que a prestada � excel�ncia acad�mica.
O p�blico mal se apercebe de que alguns m�dicos s�o dados a
certos comportamentos peculiares - as birras infantis dos cirurgi�es,
por exemplo. � mais prov�vel que a maior parte das pessoas se
271
aperceba de que, quando um estudante de Medicina entra na escola
m�dica, a sua cabe�a est� geralmente cheia de vis�es idealistas
sobre o al�vio do sofrimento, a ajuda aos pobres, o fazer bem pela
sociedade. Todavia, poucos repararam na discrep�ncia entre o
n�mero de idealistas que entra e a min�scula percentagem dos que
saem do outro lado com os seus ideais ainda intactos. E quase
ningu�m relaciona os ideais perdidos e as extravag�ncias absurdas
dos cirurgi�es. Ou os ideais perdidos e a preocupa��o de muitos
m�dicos rec�m-formados, no final do seu longo treino, com "a
reclama��o do seu direito" a ter um grupo financeira e socialmente
compensador de doentes, e de comprar casas e carros luxuosos,
para se compensar das priva��es dos seus anos de prepara��o.
Obviamente, a possibilidade de os ideais de um m�dico
poderem mudar entre a escola m�dica e a pr�tica m�dica �
diametralmente oposta �quilo em que as pessoas querem acreditar -
e que lhes � apresentado pelos meios de comunica��o. Os filmes, a
televis�o e os romances de m�dicos t�m tend�ncia para refor�ar o
mito da inerente sa�de psicol�gica e bondade dos m�dicos -
especialmente dos m�dicos jovens.
Voltamos, assim, � credibilidade do Dr. Peters como
representante dos internos em geral. Mais uma vez declaro a minha
cren�a em que ele � representativo. N�o � um dos poucos indiv�duos
aberrantes. � o t�pico jovem que come�ou com objectivos
relativamente idealistas. � o t�pico estudante e interno, cuja
personalidade sofre gradualmente certas modifica��es que o
transformam na pessoa lamurienta, queixosa e ego�sta que viemos a
conhecer - compreens�vel, mas n�o admir�vel.
A no��o de que o mundo m�dico est� cheio de Dr. Peters custa a
engolir. Se, al�m disso, se puder aceitar que quase toda a gente
que passa pela escola m�dica sofre semelhantes les�es na sua
personalidade, poder� surgir a suspeita de que o defeito � do
sistema, n�o das pessoas que a ele se sujeitam. E isso, por sua vez,
n�o sugerir� que o sistema precisa de ser estudado pelos seus
efeitos psicol�gicos e alterado num sentido capaz de alimentar, em
vez de extinguir, o idealismo e a sensibilidade dos estudantes?
272
A mudan�a � inevit�vel, e � uma esperan�a dos homens e
mulheres de boa vontade que ela se fa�a para melhor - melhor para
a sociedade e para cada indiv�duo. A reforma volunt�ria � uma
forma mais segura e mais saud�vel de mudan�a que as medidas
explosivas tomadas em consequ�ncia dos abusos. � tempo de
analisar e reformar as nossas escolas m�dicas e os centros m�dicos
onde os internos e os residentes s�o treinados, se a Medicina -
como ci�ncia e como arte - quiser ir ao encontro das necessidades
dos nossos tempos. Mesmo a an�lise mais interessada e profunda
ser� imperfeita. Mesmo os rem�dios mais honestamente utilizados
n�o ser�o inteiramente bem sucedidos. Mas, se n�o conseguirmos
atingir a perfei��o, podemos, pelo menos, aproximar-nos dela. No
m�nimo, teremos tido o bom senso e a coragem de tentar.
FIM
273
Você também pode gostar
- Cura com Hipnotismo (Traduzido): Usando o poder do SubconscienteNo EverandCura com Hipnotismo (Traduzido): Usando o poder do SubconscienteAinda não há avaliações
- O Jovem Médico - R. CookDocumento174 páginasO Jovem Médico - R. Cookasilva_715524Ainda não há avaliações
- Robin Cook - O Jovem Médico (PT-PT) (Doc) (Rev)Documento169 páginasRobin Cook - O Jovem Médico (PT-PT) (Doc) (Rev)Thalles DuarteAinda não há avaliações
- O Corpo Crítico - Jean-Claude Bernardet PDFDocumento18 páginasO Corpo Crítico - Jean-Claude Bernardet PDFDiana PichinineAinda não há avaliações
- Outlive - A Arte e A Ciência de Viver Mais e Melhor - Peter AttiaDocumento714 páginasOutlive - A Arte e A Ciência de Viver Mais e Melhor - Peter Attialibri.leandro100% (3)
- Curar - Dr. David Servan-SchreiberDocumento249 páginasCurar - Dr. David Servan-SchreiberJoao Inacio Chervinski100% (1)
- A Estrategia Da LagartixaDocumento4 páginasA Estrategia Da LagartixadeivianeAinda não há avaliações
- Atul Gawande - MortaisDocumento249 páginasAtul Gawande - MortaisRaquel Furlan100% (1)
- Terapia Biofisica para Alergia Traduzido Portugues BRDocumento45 páginasTerapia Biofisica para Alergia Traduzido Portugues BRtruu downloads100% (1)
- Cartório de Freud Di LoretoDocumento28 páginasCartório de Freud Di LoretoFlaviamqAinda não há avaliações
- Importância Da Individualidade Nos Processos de Enfermidade e Cura Segundo Masi ElizaldeDocumento12 páginasImportância Da Individualidade Nos Processos de Enfermidade e Cura Segundo Masi ElizaldeAlexandre FunciaAinda não há avaliações
- A Estrategia Da LagartixaDocumento4 páginasA Estrategia Da Lagartixadrprope100% (2)
- Cura Espiritual - Dr. LangDocumento170 páginasCura Espiritual - Dr. Langdommarco1970Ainda não há avaliações
- PrataColoidal Verdades Ocultas PDFDocumento126 páginasPrataColoidal Verdades Ocultas PDFcradius100% (1)
- Só Existe SaúdeDocumento82 páginasSó Existe SaúdeFernando OliveiraAinda não há avaliações
- Cura EspiritualDocumento295 páginasCura EspiritualdecpatAinda não há avaliações
- Diário de uma angústia: A força da escrita na superação da doençaNo EverandDiário de uma angústia: A força da escrita na superação da doençaAinda não há avaliações
- 8 Leis Espirituais Da Saude As-9788543104591Documento26 páginas8 Leis Espirituais Da Saude As-9788543104591Ailton CostaAinda não há avaliações
- A Ciencia e A Arte Da LomgevidadeDocumento391 páginasA Ciencia e A Arte Da LomgevidadeTIAGO LUIS NASCIMENTO MARQUESAinda não há avaliações
- O Medico Perante A MorteDocumento6 páginasO Medico Perante A MorteWagner MontanhiniAinda não há avaliações
- Jornal STOP A Destruição Do Mundo #67Documento4 páginasJornal STOP A Destruição Do Mundo #67Jornal STOP a Destruição do MundoAinda não há avaliações
- Teste MunhoDocumento12 páginasTeste MunhoAntonio GomesAinda não há avaliações
- Da Pressa à Urgência do Sujeito: Psicanálise e Urgência Subjetiva no Hospital GeralNo EverandDa Pressa à Urgência do Sujeito: Psicanálise e Urgência Subjetiva no Hospital GeralAinda não há avaliações
- Resenha o Médico DoenteDocumento3 páginasResenha o Médico DoenteNewton SousaAinda não há avaliações
- Remissão Radical. Kelly A. Turner. Sobrevivendo Ao Câncer Contra Todas As Probabilidades. Tradução de Vera CaputoDocumento18 páginasRemissão Radical. Kelly A. Turner. Sobrevivendo Ao Câncer Contra Todas As Probabilidades. Tradução de Vera CaputoRenata TrigueiroAinda não há avaliações
- Psicanálise - AnotaçõesDocumento8 páginasPsicanálise - AnotaçõesAdriane SilvaAinda não há avaliações
- Última palavra: Informações importantes sobre direitos humanos no final da vida. Aprenda mais e ajude alguém.No EverandÚltima palavra: Informações importantes sobre direitos humanos no final da vida. Aprenda mais e ajude alguém.Ainda não há avaliações
- Sobre Ser São em Lugares InsanosDocumento19 páginasSobre Ser São em Lugares Insanoslferreira_22433Ainda não há avaliações
- Roteiro - Analise Critica - Filme - Um Estranho No NinhoDocumento2 páginasRoteiro - Analise Critica - Filme - Um Estranho No Ninhodrielle fAinda não há avaliações
- Abrindo o jogo: Uma conversa direta sobre câncer de mamaNo EverandAbrindo o jogo: Uma conversa direta sobre câncer de mamaAinda não há avaliações
- Câncer de Mama - Um Enfoque Psicossocial (Brandt, 2004)Documento59 páginasCâncer de Mama - Um Enfoque Psicossocial (Brandt, 2004)JulianyAinda não há avaliações
- As Confissões de Um Médico HeréticoDocumento162 páginasAs Confissões de Um Médico Heréticorcunha35Ainda não há avaliações
- T S Wiley - O Brilho - Câncer - Apague A Luz! - SONO REPARADOR MELATONINA LUZ ARTIFICIALDocumento6 páginasT S Wiley - O Brilho - Câncer - Apague A Luz! - SONO REPARADOR MELATONINA LUZ ARTIFICIALachukosAinda não há avaliações
- Osteopatia RacionalDocumento85 páginasOsteopatia RacionalVictor Henrique100% (1)
- LOUCO NA AMÉRICA - A História de Maus Tratos Da Psiquiatria - MAD IN AMERICA, Robert WhitakerDocumento34 páginasLOUCO NA AMÉRICA - A História de Maus Tratos Da Psiquiatria - MAD IN AMERICA, Robert WhitakerCalabi-YauAinda não há avaliações
- Um Caso de Amor com a Endometriose: O Outro Lado da DoençaNo EverandUm Caso de Amor com a Endometriose: O Outro Lado da DoençaAinda não há avaliações
- 0 A Personificacao Do Improvavel Mario PastoreDocumento176 páginas0 A Personificacao Do Improvavel Mario PastoreNinaAinda não há avaliações
- Raciocínio Clínico (Kurt Kloetzel) (Z-Library)Documento256 páginasRaciocínio Clínico (Kurt Kloetzel) (Z-Library)Alê AndradeAinda não há avaliações
- Refletindo Sobre o Filme WITDocumento4 páginasRefletindo Sobre o Filme WITRodrigo AmorimAinda não há avaliações
- Safira e A Luta Contra o Cancro - Pré-PublicaçãoDocumento9 páginasSafira e A Luta Contra o Cancro - Pré-PublicaçãoGabriel MateusAinda não há avaliações
- Lisa Sanders É Um DR House Real, Público 201001Documento3 páginasLisa Sanders É Um DR House Real, Público 201001josearmandopinhoAinda não há avaliações
- A Importância de Ser Diferente, Ian MacwhinneyDocumento8 páginasA Importância de Ser Diferente, Ian MacwhinneySidneyAinda não há avaliações
- E - BOOK Mulher 0e4a93Documento152 páginasE - BOOK Mulher 0e4a93ElianeAinda não há avaliações
- TESTEMUNHO DA CLINICA 15 A 28 CASODocumento11 páginasTESTEMUNHO DA CLINICA 15 A 28 CASOLuciene MaiaAinda não há avaliações
- As Confissoes de Um Medico HereticoDocumento162 páginasAs Confissoes de Um Medico Hereticojuliermepower100% (1)
- Resenha O Médico Doente Drauzio VarelaDocumento2 páginasResenha O Médico Doente Drauzio VarelaFabiano HenriqueAinda não há avaliações
- Amor, Medicina e Milagres - Bernie SiegelDocumento232 páginasAmor, Medicina e Milagres - Bernie SiegelJussara Rizzon100% (2)
- MOL, Annemarie - Corpo Múltiplo (Versão Lacs)Documento30 páginasMOL, Annemarie - Corpo Múltiplo (Versão Lacs)mauriiofilhobhAinda não há avaliações
- Só Existe Saude PlenaDocumento82 páginasSó Existe Saude Plenamarilena100% (1)
- A Importância de Ser DiferenteDocumento11 páginasA Importância de Ser DiferenteSocorro CarneiroAinda não há avaliações
- Um Médico Conta Tudo em 'Confissões de Um Cirurgião' - NPRDocumento14 páginasUm Médico Conta Tudo em 'Confissões de Um Cirurgião' - NPRisaacmendonca.sp2Ainda não há avaliações
- O Terapeuta Afetado:hermenêutica Como Posição Clínica Ricardo Da Silva Lucante BulcãoDocumento7 páginasO Terapeuta Afetado:hermenêutica Como Posição Clínica Ricardo Da Silva Lucante BulcãoBrunoDosReis100% (1)
- Valis - Philip K. DickDocumento296 páginasValis - Philip K. DickparallaxmeisterAinda não há avaliações
- Chico Xavier - A Caminho Da Luz (Espírito Emmanuel)Documento210 páginasChico Xavier - A Caminho Da Luz (Espírito Emmanuel)neyjunior100% (6)
- Cascata de Luz (Psicografia Irene Pacheco Machado - Espírito Luiz Sérgio) PDFDocumento171 páginasCascata de Luz (Psicografia Irene Pacheco Machado - Espírito Luiz Sérgio) PDFRita Nugem Emmanuel MingeonAinda não há avaliações
- DHCPDNSe WINSDocumento64 páginasDHCPDNSe WINSshirley_silvaAinda não há avaliações
- Patrick Geryl - A Profecia de OrionDocumento152 páginasPatrick Geryl - A Profecia de OrionGustavo Kardel100% (1)
- Com An Dos Do LinuxDocumento18 páginasCom An Dos Do LinuxparallaxmeisterAinda não há avaliações
- Sistema CardiovascularDocumento5 páginasSistema CardiovascularCatarinaAinda não há avaliações
- Estágio Supervisionado em Análises ClínicasDocumento159 páginasEstágio Supervisionado em Análises ClínicasAila ZittlauAinda não há avaliações
- Dash Fitoterapia para Insonia e HipertensaoDocumento141 páginasDash Fitoterapia para Insonia e HipertensaoGraziela SpadariAinda não há avaliações
- Ficha Ciencias 6º Sistema Circ.Documento4 páginasFicha Ciencias 6º Sistema Circ.zonaastutaAinda não há avaliações
- Phtls 9 Edição Parte Do Capítulo 6 - CfabDocumento21 páginasPhtls 9 Edição Parte Do Capítulo 6 - Cfabtixinhamor0% (1)
- Exame Físico Vascular PeriféricoDocumento6 páginasExame Físico Vascular PeriféricoJulhia Manuela100% (2)
- pdfAULA 01 - Farmacologia Do Sistema CardiovascularDocumento22 páginaspdfAULA 01 - Farmacologia Do Sistema CardiovascularAlice Mariana Arêa Andrade100% (1)
- Relatorio Praticas Ead Anatomia Humana Aula 1Documento7 páginasRelatorio Praticas Ead Anatomia Humana Aula 1Kelly Sousa CarvalhoAinda não há avaliações
- EFT 3 - Diagnóstico EnergéticoDocumento56 páginasEFT 3 - Diagnóstico EnergéticoAnt Z100% (1)
- Modelo de Relatorio Do Estagio Supervisionado para o Setor de Coleta de SangueDocumento6 páginasModelo de Relatorio Do Estagio Supervisionado para o Setor de Coleta de SangueAndressa Gatti0% (1)
- POP Higiene Das MãosDocumento7 páginasPOP Higiene Das MãosRosana RodriguesAinda não há avaliações
- O - Anatomista - V1 - 2020-2 VesaliusDocumento62 páginasO - Anatomista - V1 - 2020-2 VesaliusFrancielen BoldrinAinda não há avaliações
- Tutoria 6 - Doenças PulmonaresDocumento14 páginasTutoria 6 - Doenças PulmonaresCarolina Poblete Urrutia HarmbacherAinda não há avaliações
- Apostila de Cirurgia Pediátrica PDFDocumento212 páginasApostila de Cirurgia Pediátrica PDFPedro Neto100% (3)
- CMRJ Prova Port 613Documento12 páginasCMRJ Prova Port 613atilagiffoniAinda não há avaliações
- Anatomia Abdominal e Afecçoes HepáticasDocumento9 páginasAnatomia Abdominal e Afecçoes Hepáticasthiago_eliseuAinda não há avaliações
- BDQ Prova - Anatomia Sistêmica - 03Documento2 páginasBDQ Prova - Anatomia Sistêmica - 03Juliana LeiteAinda não há avaliações
- Simulado UnespDocumento32 páginasSimulado Unespcarlosramirez3990Ainda não há avaliações
- Manipulações Next Pharma 2020Documento54 páginasManipulações Next Pharma 2020Aires BuenosAinda não há avaliações
- Enviando Por Email Punção em Jugular Externa - Prof Diego BrunosDocumento9 páginasEnviando Por Email Punção em Jugular Externa - Prof Diego BrunosMkReje PoulAinda não há avaliações
- Fundamentos UFRJ AfirmaDocumento8 páginasFundamentos UFRJ AfirmaCurso AfirmaçãoAinda não há avaliações
- Drenagem Linfática MóduloDocumento47 páginasDrenagem Linfática MóduloMagno Zaltron100% (2)
- 2 - Venóclise e Venopunção OkDocumento43 páginas2 - Venóclise e Venopunção OkPLACIDO ARAUJOAinda não há avaliações
- Bioquímica Clínica - Aula 1 - Apresentação Da Disciplina e ColetaDocumento22 páginasBioquímica Clínica - Aula 1 - Apresentação Da Disciplina e ColetaValeskaSenaAinda não há avaliações
- Monitorização HemodinâmicaDocumento55 páginasMonitorização HemodinâmicaVictoria AlvesAinda não há avaliações
- Vias de Acesso Do Sistema VascularDocumento21 páginasVias de Acesso Do Sistema Vasculargabriel gabrielAinda não há avaliações
- POP Aplicacao de InjetaveisDocumento15 páginasPOP Aplicacao de Injetaveismih.carvalho.maAinda não há avaliações
- Seres Vivos Revisao ExerciciosDocumento17 páginasSeres Vivos Revisao ExerciciosLilian SouzaAinda não há avaliações
- Biologia - Pré-Vestibular Impacto - Sistema Cárdio-Vascular IDocumento2 páginasBiologia - Pré-Vestibular Impacto - Sistema Cárdio-Vascular IBiologia Impacto100% (5)
- T.EST. Questionário Sistema Linfático-CardiovascularDocumento9 páginasT.EST. Questionário Sistema Linfático-CardiovascularGabriela VieiraAinda não há avaliações