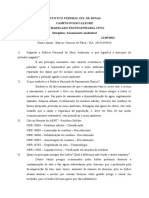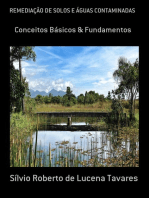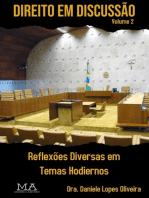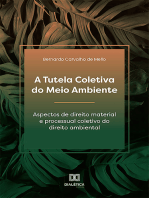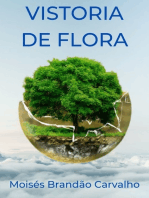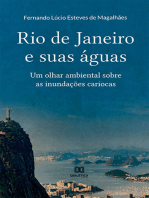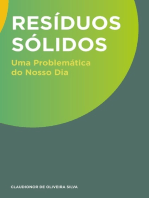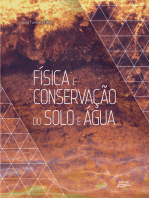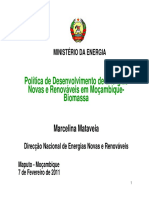Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Resumo Estruturação Sanitária Das Cidades
Resumo Estruturação Sanitária Das Cidades
Enviado por
EduardoFerreiraDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Resumo Estruturação Sanitária Das Cidades
Resumo Estruturação Sanitária Das Cidades
Enviado por
EduardoFerreiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1.
Planejamento
1.1. Ecossistema
1.1.1. Conjunto formado por todas as comunidades bióticas que vivem e interagem em
determinada região e pelos fatores abióticos que atuam sobre estas
1.2. Ecossistema Urbano
1.2.1. As cidades podem ser entendidas como tal, com suas necessidades biológicas,
essenciais à sobrevivência da população, e requisitos culturais essenciais ao
funcionamento das cidades
Ar Água Alimentos População
Energia Cidade Energia
Resíduos,
efluentes, Serviços Tecnologia Ruído
emissão
1.3. Resíduos Sólidos
1.3.1. Doméstico
1.3.2. Hospitalar
1.3.3. Industrial
1.3.4. Construção Civil
1.3.5. Limpeza Pública
1.4. Efluentes Líquidos
1.4.1. Esgoto
1.4.2. Águas Pluviais
1.4.3. Industriais
1.4.4. Lavagens
1.5. Saneamento X Saúde
1.5.1. Saúde
1.5.1.1. Completo bem-estar físico, mental e social
1.5.2. Saneamento Básico para a promoção da saúde da população
1.5.2.1. Serviços de Saneamento
1.5.2.1.1. Abastecimento de água potável
1.5.2.1.2. Sistema de esgotamento sanitário
1.5.2.1.3. Gestão de RS e de limpeza pública
1.5.2.1.4. Sistema de drenagem de águas pluviais
Animais domésticos
Dejetos humanos/animais Contaminação
1.6. Planejamento
1.6.1. Conceito utilizado no contexto de diversas áreas do conhecimento para se referir a
um processo de sistematização de ações que visam atingir metas e objetivos
1.6.2. Planejamento Público
1.6.2.1. Soluções de dimensão técnica e política
1.6.3. Planejar por que?
1.6.3.1. Otimizar uso de recursos
1.6.3.2. Acelerar implantação de processos
1.6.3.3. Evitar retrabalho e gastos desnecessários
1.6.3.4. Reduzir riscos e conflitos
1.6.3.5. Reduzir impactos ambientais
1.6.4. Tipos de Planejamento
1.6.4.1. Planejamento Econômico
1.6.4.2. Planejamento Físico
1.6.4.3. Planejamento Desenvolvimentista
1.7. Histórico do Planejamento
1.7.1. Prática da pesca/agricultura
1.7.2. Mesopotâmia (4.000 a.C.)
1.7.2.1. Primeiros “planejadores” profissionais
1.7.3. Preocupação com impactos ambientais muito pontuais
1.7.3.1. Aspectos de planejamento ligados à religião, economia, política social e estética
1.7.4. Entre os séculos XVIII e XIX
1.7.4.1. Conceitos de ecossistemas e teoria da evolução
1.8. Planejamento ambiental no Brasil
1.8.1. 1930
1.8.1.1. Código das águas
1.8.2. 1960-1970
1.8.2.1. Industrialização pesada
1.8.2.2. Pobreza
1.8.2.3. Impactos ambientais
1.8.3. 1965
1.8.3.1. Código florestal
1.8.3.2. Lei de proteção à fauna
1.8.4. 1980
1.8.4.1. Ações governamentais, por pressões de bancos internacionais e ONGs
1.8.5. 1981
1.8.5.1. Lei 6938 – Política Nacional do Meio Ambiente
1.8.5.2. Criação do SISNAMA e CONAMA
1.8.5.3. Unidades de planejamento em bacias hidrográficas
1.8.6. 1986
1.8.6.1. Resolução 001/86 CONAMA – EIA
1.8.7. 1990
1.8.7.1. Surgimento dos planejadores
1.8.7.1.1. Problemas
1.8.7.1.1.1. Simplistas
1.9. Planejamento municipal
1.9.1. Instrumentos básicos
1.9.1.1. Plano plurianual
1.9.1.2. Diretrizes orçamentárias
1.9.1.2.1. Orçamentos fiscais
1.9.1.2.2. Seguridade social
1.9.1.2.3. Investimentos
1.9.1.3. Orçamentos anuais
1.9.1.4. Lei orgânica municipal
1.9.1.5. Plano diretor de desenvolvimento urbano (PDDU)
1.10. Características ambientais x urbanização
O meio ambiente influencia o processo de urbanização assim como este último
influencia naquele
1.10.1. Condições climáticas de uma região
1.10.1.1. Radiação solar
1.10.1.2. Temperatura e evaporação (“ilhas de calor”)
1.10.1.3. Ventos
1.10.1.4. Camadas atmosféricas
1.10.1.5. Precipitação
1.10.1.6. Umidade
1.10.2. Geomorfologia
1.10.2.1. Formas de relevo
1.10.2.2. Rugosidade topográfica
1.10.2.3. Amplitude de vales
1.10.2.4. Grandeza de planícies de inundação
1.10.2.5. Declividade do terreno (escoamento)
1.10.3. Geologia
1.10.3.1. Resistência a carga
1.10.3.2. Umidade
1.10.3.3. Plasticidade
1.10.3.4. Permeabilidade
1.10.3.5. Capacidade de absorção
1.10.3.6. Aproveitamento de recursos naturais
1.10.3.7. Aguas subterrâneas
1.10.4. Solos
1.10.4.1. Tipos e formação
1.10.4.2. Uso e ocupação
1.10.4.3. Produção de alimentos
1.10.4.4. Problemas relacionados a erosão
1.10.4.5. Capacidade de absorção
1.10.5. Recursos hídricos
O processo de urbanização pode provocar
1.10.5.1. Aumento da precipitação
1.10.5.2. Diminuição da evapo-transpiração
1.10.5.3. Aumento da quantidade de liquido escoado
1.10.5.4. Diminuição da infiltração (impermeabilização e compactação do solo)
1.10.5.5. Consumo de água superficial e subterrânea para abastecimento público, usos
industriais e irrigação
1.10.5.6. Mudanças no nível do lençol freático, redução ou esgotamento
1.10.5.7. Aumento da ocorrência de enchentes
1.10.5.8. Poluição de águas superficiais e subterrâneas
1.10.6. Cobertura vegetal
1.10.6.1. Contribui para a retenção e a estabilização dos solos
1.10.6.2. Previne contra a reosao do solo
1.10.6.3. Integra o ciclo hidrológico
1.10.6.4. Sombreamento
1.10.6.5. Influi no clima
1.10.6.6. Fonte de alimentos e matéria-prima
1.10.6.7. Paisagem
1.10.6.8. Ambiente natural para diversas espécies animais
1.10.6.9. Meio dispersor e absorvente de poluentes atmosféricos, ou como barreira a
propagação de ruídos
1.10.7. Ecossistemas
1.10.7.1. Rios, riachos, lagoas, cursos d’água
1.10.7.2. Matas e florestas
1.10.7.3. Manguezais e estuários
1.10.7.4. Alagados e pântanos
1.10.7.5. Ambientes marinhos
1.10.7.6. Dunas
1.10.8. Previsão dos impactos ambientais – base para adoção de medidas de proteção
1.10.8.1. Aspectos demográficos
1.10.8.2. Uso do solo
1.10.8.3. Atividades e meios produtivos
1.10.8.4. Níveis de educação, saneamento e saúde
1.10.8.5. Infraestrutura existente
1.10.8.6. Comunicação e transporte
1.10.8.7. Habitação
1.10.8.8. Aspectos culturais
1.10.8.9. Áreas de valor histórico-culturais
1.10.8.10.Relação com os meios físico e biótico
1.10.8.11.Áreas de influência direta e indireta – não considerar somente a cidade, mas
também as áreas vizinhas e externas ao ambiente urbano
1.11. Urbanização e poluição ambiental
1.11.1. Formas de poluição
1.11.1.1. Poluição do solo
1.11.1.1.1. Aplicação de agentes químicos
1.11.1.1.2. Dejetos oriundos de animais
1.11.1.1.3. Disposição de resíduos sólidos
1.11.1.1.4. Emissão de efluentes líquidos industriais e esgotos domésticos
1.11.1.1.5. Erosão do solo
1.11.1.2. Poluição do ar
1.11.1.2.1. Depende sobretudo de
1.11.1.2.1.1. Fontes de emissão de poluição (tipos de poluentes, período, quantidades)
1.11.1.2.1.1.1. Principais fontes:
1.11.1.2.1.1.1.1. Fontes industriais, incluindo as fabricas e outros processos como a
queima de combustíveis derivados do petróleo, em fornos, caldeiras, etc
1.11.1.2.1.1.1.2. Transporte, compreendendo os veículos automotores e o trafego aéreo
1.11.1.2.1.1.2. Outras fontes:
1.11.1.2.1.1.2.1. Incineração de resíduos sólidos
1.11.1.2.1.1.2.2. Perdas por evaporação em serviços petroquímicos
1.11.1.2.1.1.2.3. Queima de vegetação
1.11.1.2.1.1.2.4. Queima de combustíveis para aquecimento de residências
1.11.1.2.1.2. Características climáticas do ambiente
1.11.1.2.1.3. Condições topográficas do terreno, influindo na circulação do ar
1.11.1.2.2. Principais efeitos adversos ao meio ambiente
1.11.1.2.2.1. Danos à saúde humana e animal
1.11.1.2.2.2. Redução da visibilidade
1.11.1.2.2.3. Prejuízos aos materiais
1.11.1.2.2.4. Danos aos vegetais
1.11.1.2.2.5. Chuvas ácidas
1.11.1.3. Poluição da água
1.11.1.3.1. Fontes localizadas de poluição
1.11.1.3.1.1. Esgotos domésticos ou sanitários
1.11.1.3.1.2. Efluentes industriais
1.11.1.3.1.3. Lançamentos de águas pluviais
1.11.1.3.2. Fontes não-localizadas de poluição
1.11.1.3.2.1. Águas de escoamento superficial. Contém uma grande variedade de
impurezas que dependem:
1.11.1.3.2.1.1. Do uso do solo
1.11.1.3.2.1.2. Atividades desenvolvidas na área
1.11.1.3.2.1.3. Fatores hidrológicos
1.11.1.3.2.1.4. Características do ambiente físico
1.11.1.3.2.1.5. Difícil prever a composição
1.11.1.3.2.1.6. Qualidade do líquido varia com o tempo de precipitação
1.11.1.3.2.1.7. Construção civil e poluentes atmosféricos contribuem
1.11.1.3.2.2. Águas de infiltração
1.11.1.3.2.2.1. Aquíferos freáticos
1.11.1.3.2.2.2. Aquíferos artesianos
1.11.1.3.2.2.3. Contribuição para cursos de água perene
1.11.1.3.2.3. Movimento de poluentes no subsolo. Entre os fatores envolvidos na
contaminação estão
1.11.1.3.2.3.1. Natureza do contaminante que percola junto à água
1.11.1.3.2.3.2. Hidráulica do sistema de escoamento
1.11.1.3.2.3.3. Características físicas e químicas do meio geológico
1.11.1.3.2.3.4. Processo natural de tratamento que ocorre no meio subterrâneo
1.11.1.4. Poluição acústica
1.11.1.4.1. Principais fontes no meio urbano são:
1.11.1.4.1.1. Meios de transporte terrestre
1.11.1.4.1.2. Trafego aéreo
1.11.1.4.1.3. Obras de construção civil
1.11.1.4.1.4. Atividades industriais
1.11.1.4.1.5. Eletrodomésticos
1.11.1.4.1.6. Comportamento do homem
1.11.1.5. Poluição visual
2. Comunidade, Local e Região
2.1. Comunidade
2.1.1. Max Webber (1975)
2.1.1.1. Conceito amplo que abrange situações heterogêneas, mas que ao mesmo tempo
apoia-se em fundamentos:
2.1.1.1.1. Afetivos
2.1.1.1.2. Emocionais
2.1.1.1.3. Tradicionais
2.1.1.2. Ou seja, “é uma relação social quando a atitude na ação social se inspira no
sentimento subjetivo dos participantes da constituição de um todo”
2.1.2. Ferdinand Tonnies (1973)
2.1.2.1. Sociedade (racional) x Comunidade (orgânica)
2.1.2.2. Relações familiares
2.1.2.3. “A existência de processos comunitários estaria ligada em 1º lugar aos laços de
sangue, em 2º lugar, a aproximação espacial, e em 3º lugar, à aproximação
afetiva/religiosa”
2.1.2.4. Tendência de apanhar a comunidade sempre em relação à vida em grupos
coesos e unidos por um interesse em comum
2.1.3. Robert Park e Ernest Burges (1975)
2.1.3.1. A comunidade deve ser considerada a partir da distribuição geográfica e das
instituições de que são compostos
2.1.4. Marcos Palácios (2001)
2.1.4.1. Elementos que caracterizam uma comunidade no mundo atual
2.1.4.1.1. Sentimento de pertencimento
2.1.4.1.2. Permanência
2.1.4.1.3. Territorialidade
2.1.4.1.4. Forma própria de comunicação entre seus membros por meio de veículos
específicos
2.2. Local
2.2.1. O local implica em um espaço com características peculiares que provoca na
comunidade:
2.2.1.1. Familiaridade
2.2.1.2. Vizinhança
2.2.1.3. Congrega identidade e história
2.2.2. Os contornos são transitórios, passíveis de mudanças
2.2.3. Assim, a noção de local engloba desde aspectos técnicos, como os limites físicos e
ambientais
2.2.3.1. Rios, lagos, mares, montanhas, diferenças climáticas, características de solo
2.2.4. E também aspectos político-econômicos, diversidade cultural, história, linguística,
etc.
2.2.5. O espaço é um conjunto de elementos fixos e fluxos
2.2.5.1. Fixos: fixados em um local, permitem ações que modificam o próprio local
2.2.5.2. Fluxos: novos ou renovados, que recriam as condições ambientais e as condições
sociais e redefinem cada lugar
2.3. Região
2.3.1. Pode ser aplicada em relação a uma fração de estado ou de uma nação, como um
agrupamento de estados ou nações, próximas pelas características econômicas,
políticas, culturais e, geralmente, pela situação geográfica
2.3.1.1. Situação Geográfica
2.3.1.1.1. Cidades são distribuídas de acordo com várias localizações
2.3.1.1.2. Impressão aleatória, porém, existem padrões de localização, cada um dotado
de uma lógica própria
2.3.1.1.3. Duas escalas principais:
2.3.1.1.3.1. Sítio
Chão sobre o qual a cidade se estende
2.3.1.1.3.2. Posição Geográfica
Situação locacional de uma cidade em relação a aspectos externos
3. Densidades Urbanas Ideais
3.1. Exemplos
3.1.1. Densidades Baixas
3.1.1.1. 10 hab/ha (Frank Wright)
3.1.2. Densidades Altas
3.1.2.1. 3000 hab/ha (Le Corbusier)
3.2. Frank Wright (1867 – 1959)
3.2.1. “Nós vivemos em cidades do passado, escravos da máquina e da construção
tradicional, retrato da cidade industrial poluída e que impede os habitantes do
contato com a natureza”
3.2.2. Modelo utópico de planejamento urbano, cujo conceito central é a
descentralização e baixa densidade para minimizar e “diluir” ao máximo o impacto
da cidade sobre a paisagem natural
3.2.3. Cidade de Broadacre, dividida em quadrados ou “lotes” de um acre (4047 m 2),
onde poderiam coexistir plantações, indústrias, escolas, etc
3.3. Le Corbusier
3.3.1. Plano voisin para Paris, tendo como objetivo uma cidade futurista, moderna, com
separação entre usos, altas densidades, unidades de vizinhança, etc. Envolvia a
destruição de parte da cidade e construção de “arranha-céus”
3.4. Debate atual
3.4.1. Revalorização de densidades populacionais altas
3.4.2. Baixas densidades reduziriam a diversidade dos usos das áreas urbanas, tornando-
as mais desertas e acentuando problemas de segurança
3.4.3. Densidades maiores seriam importantes em função de:
3.4.3.1. Maximização do uso da infraestrutura urbana instalada
3.4.3.2. Redução de necessidade de viagens e deslocamentos
3.4.3.3. Favorecimento do pedestrianismo e viabilização da implantação de sistemas de
transporte coletivo
160
140
120
100
US$/ha
80
60
40
20
0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
Hab/ha
3.4.4. Cidade de Caracas – Estudos realizados pelo banco do trabalhador (1979)
3.4.5. Outros valores de referência
3.4.5.1. ONU – 450 hab/ha
3.4.5.2. Ass. Americana de Saúde Pública – 680 hab/ha
3.5. Índices Complementares
Os parâmetros urbanísticos consistem em grandezas e índices que medem aspectos
relevantes relativos a densidade e a paisagem urbana
Planejamento Urbano
Zoneamento Parâmetros Urbanísticos
Grandezas Índices
Área Taxa de Coeficiente de Taxa de Índice de Áreas
Gabarito Afastamento
Construtiva Ocupação Aproveitamento Permeabilidade Verdes
3.5.1. O zoneamento é a delimitação da cidade em zonas específicas para as diversas
funções urbanas onde são aplicados determinados parâmetros urbanísticos que
regulam o uso e ocupação do solo
3.5.1.1. Todos os parâmetros urbanísticos, assim como, o zoneamento, variam de
município para município
3.5.1.1.1. Afastamento
3.5.1.1.1.1. Recursos obrigatórios em relação às divisas do lote (lateral e fundo), em
relação ao logradouro (frontal), e eventualmente, entre edificações
3.5.1.1.2. Área Construtiva
3.5.1.1.2.1. Área edificada total, consiste na soma de todos os pavimentos da edificação
(m)
3.5.1.1.3. Taxa de Ocupação
3.5.1.1.3.1. Fixando a relação entre a área coberta pela edificação e a área do lote,
fornece o critério para limitação da porção da superfície do terreno que
pode ser construída
AP
3.5.1.1.3.2. ¿= ×100
AT
3.5.1.1.4. Coeficiente de Aproveitamento
3.5.1.1.4.1. Traduz a relação entre somatórios das áreas brutas de todos os pavimentos
e a área do lote
(P1+ P 2+ P3 + …+ Pn) AC
3.5.1.1.4.2. CA= =
AT AT
3.5.1.1.5. Taxa de Permeabilidade
3.5.1.1.5.1. Consiste na Relação entre a parte do térreo (lote) que permite a infiltração
de água e a área total do mesmo
AT −( AP + AIP )
3.5.1.1.5.2. TP=
AT
3.5.1.1.6. Gabarito
3.5.1.1.6.1. Expressa em pavimentos ou metros, a altura máxima permitida para as
edificações em uma dada zona
3.5.1.1.6.2. São atribuídos valores especificados visando a garantia das condições
mínimas de insolação, iluminação, arejamento, etc
3.5.1.1.7. Índice de Áreas Verdes
3.5.1.1.7.1. Relação entre a parcela do terreno coberta por vegetação e a área total do
mesmo
4. Parcelamento do solo urbano
5. Urbanização e Crescimento populacional
6. Estatuto das Cidades
7. Legislação Urbana
8. Resíduos Sólidos
Você também pode gostar
- MODELO Defesa Prévia Contra Auto de Infração Ambiental SAMA Fundema Multa AmbientalDocumento10 páginasMODELO Defesa Prévia Contra Auto de Infração Ambiental SAMA Fundema Multa AmbientalGilfredo MacarioAinda não há avaliações
- Manual de Hidraulica Azevedo Netto PDFDocumento2 páginasManual de Hidraulica Azevedo Netto PDFSIRLENO ITAMAR BARBOSA PINHEIRO100% (1)
- 20162-SMT-PE-03-Paginação de Steel Deck-R00Documento1 página20162-SMT-PE-03-Paginação de Steel Deck-R00Victor Mendes0% (1)
- Quesitos para Pericia AmbientalDocumento50 páginasQuesitos para Pericia Ambientalsamanthavt100% (1)
- Resumo Materiais de Construção Civil IIIDocumento39 páginasResumo Materiais de Construção Civil IIIEduardoFerreiraAinda não há avaliações
- N 2910Documento9 páginasN 2910Alexsandro CordeiroAinda não há avaliações
- PTBR MANUAL REPAROS NIVEL 1 - 2 PDFDocumento96 páginasPTBR MANUAL REPAROS NIVEL 1 - 2 PDFAlex Diagnostico Diesel100% (5)
- Problemas AmbientaisDocumento47 páginasProblemas AmbientaisPAULOASTRAAinda não há avaliações
- Adm. Ecologia e AmbienteDocumento8 páginasAdm. Ecologia e AmbientePedro NambureteAinda não há avaliações
- Gestão de Resíduos Sólidos 1Documento19 páginasGestão de Resíduos Sólidos 1copob pmdAinda não há avaliações
- UntitledDocumento4 páginasUntitledemailcariocaAinda não há avaliações
- Trabalho de CA Poluição Dos SolosDocumento19 páginasTrabalho de CA Poluição Dos SolosdeniscaubAinda não há avaliações
- Apostila 03 - RecursosDocumento19 páginasApostila 03 - RecursosGlauci HoffmannAinda não há avaliações
- Prova M.sa 2019Documento10 páginasProva M.sa 2019Antonio Mateus Pires da SilvaAinda não há avaliações
- Relatório EtarDocumento47 páginasRelatório EtarJoao Guilherme Vaz CorreiaAinda não há avaliações
- Tecnologia de Tratamento de Efluentes LiquidosDocumento71 páginasTecnologia de Tratamento de Efluentes LiquidosaaaaAinda não há avaliações
- Bacias Trabalho 3 PDFDocumento13 páginasBacias Trabalho 3 PDFAtumane UsseneAinda não há avaliações
- 1 - Termo de Referência - Atividade Agrícola - SimplificadoDocumento9 páginas1 - Termo de Referência - Atividade Agrícola - SimplificadoJosé Augusto Ferreira Silva JúniorAinda não há avaliações
- Atividades Responsabilidade SocioambientalDocumento9 páginasAtividades Responsabilidade SocioambientalBenjaminAinda não há avaliações
- Actividades AntropogenicasDocumento35 páginasActividades Antropogenicasrider copaAinda não há avaliações
- Aula 01Documento12 páginasAula 01Gabi bosioAinda não há avaliações
- Etica SocialDocumento12 páginasEtica Socialguerraldo manuel cucha cuchaAinda não há avaliações
- Plano Bacia Hidrografica Do Rio Vouga. 2001. Relatório Do Plano.Documento435 páginasPlano Bacia Hidrografica Do Rio Vouga. 2001. Relatório Do Plano.maruxinhamorganAinda não há avaliações
- AOL 3 Fundamentos Da Engenharia AmbientalDocumento9 páginasAOL 3 Fundamentos Da Engenharia AmbientalPaulo FerreiraAinda não há avaliações
- Bib Manual SaneamentoDocumento362 páginasBib Manual SaneamentonmcarlosAinda não há avaliações
- Poluiçao Dos SolosDocumento20 páginasPoluiçao Dos Soloscams271005Ainda não há avaliações
- 01 - HidrogeografiaDocumento10 páginas01 - HidrogeografiaNelson IntopeAinda não há avaliações
- O Que São Serviços de EcossistemaDocumento2 páginasO Que São Serviços de EcossistemaNilton MachailaAinda não há avaliações
- Poluição Hídrica - Causas e ConsequênciasDocumento19 páginasPoluição Hídrica - Causas e Consequênciasgabrielle220189Ainda não há avaliações
- Contaminacao Do Solo e Da Agua Pelo UsoDocumento7 páginasContaminacao Do Solo e Da Agua Pelo UsoPetilson BabyAinda não há avaliações
- ISO 14001 - 2015 Questões AmbientaisDocumento11 páginasISO 14001 - 2015 Questões AmbientaisMário FragosoAinda não há avaliações
- Atividade - Impactos AmbientaisDocumento8 páginasAtividade - Impactos AmbientaisGISELLE FRANCINE BRITO MUNIZAinda não há avaliações
- Mapa Mental 8. - Impactos - Ambientais (Curso UNIPRÉ)Documento7 páginasMapa Mental 8. - Impactos - Ambientais (Curso UNIPRÉ)Almoxarifado EmpenhoAinda não há avaliações
- ImpactosDocumento35 páginasImpactosSara AlvesAinda não há avaliações
- @resíduos SólidosDocumento45 páginas@resíduos SólidosFelix Silva BarretoAinda não há avaliações
- Biorremediação Assistida de Solos Contaminados Com HidrocarbonetosDocumento2 páginasBiorremediação Assistida de Solos Contaminados Com HidrocarbonetosManuela CarvalhoAinda não há avaliações
- Manual de Sane Amen To FUNASADocumento362 páginasManual de Sane Amen To FUNASAMaria José Carmo100% (1)
- Águas e Sociedade - T1 CRNDocumento18 páginasÁguas e Sociedade - T1 CRNIvan Souza Isael De BarrosAinda não há avaliações
- Gestão de Residuos SólidosDocumento55 páginasGestão de Residuos SólidosThiago Souza SilvaAinda não há avaliações
- Primeira Avaliação Gestão AmbientalDocumento4 páginasPrimeira Avaliação Gestão AmbientalAndressa FischerAinda não há avaliações
- Aula 01 - Introdução Ao Saneamento PDFDocumento14 páginasAula 01 - Introdução Ao Saneamento PDFmurilo soaresAinda não há avaliações
- 5-Geotecnia AmbientalDocumento57 páginas5-Geotecnia AmbientalMelissa AlmeidaAinda não há avaliações
- Direito Dos Residuos Jurisprudencia CompletoDocumento262 páginasDireito Dos Residuos Jurisprudencia CompletoEder FerreiraAinda não há avaliações
- Gerenciamento de Resíduos SólidosDocumento20 páginasGerenciamento de Resíduos SólidosEnrico RezendeAinda não há avaliações
- 84 - Apostila Curso Operadores de ETEDocumento38 páginas84 - Apostila Curso Operadores de ETEmarcoavAinda não há avaliações
- Hidrologia UrbanaDocumento50 páginasHidrologia UrbanaGilmar Rocha100% (1)
- Tópico 1 - As Aguas ResiduaisDocumento29 páginasTópico 1 - As Aguas Residuaiselisabetesv04Ainda não há avaliações
- Poluição Água e SoloDocumento15 páginasPoluição Água e SoloMJM70Ainda não há avaliações
- Aterros Sanitarios de Residuos SolidosDocumento7 páginasAterros Sanitarios de Residuos SolidosMayara UllyAinda não há avaliações
- Referencial TeoricoDocumento32 páginasReferencial TeoricoLusmar JuniorAinda não há avaliações
- PROVA 1 SaneamentoDocumento3 páginasPROVA 1 SaneamentoMarcos Vinícius de PaivaAinda não há avaliações
- Mejoramiento de Perúclean - FinalDocumento28 páginasMejoramiento de Perúclean - Finaljhonatan OGXDAinda não há avaliações
- Remediação De Solos E Águas ContaminadasNo EverandRemediação De Solos E Águas ContaminadasAinda não há avaliações
- A Tutela Coletiva do Meio Ambiente: aspectos de direito material e processual coletivo do direito ambientalNo EverandA Tutela Coletiva do Meio Ambiente: aspectos de direito material e processual coletivo do direito ambientalAinda não há avaliações
- Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável: perspectivas interdisciplinares: - Volume 5No EverandCaminhos para o Desenvolvimento Sustentável: perspectivas interdisciplinares: - Volume 5Ainda não há avaliações
- Loteamento industrial: aspectos ambientais e urbanísticos necessários para o equilíbrio do meio ambienteNo EverandLoteamento industrial: aspectos ambientais e urbanísticos necessários para o equilíbrio do meio ambienteAinda não há avaliações
- Rio de Janeiro e suas águas: um olhar ambiental sobre as inundações cariocasNo EverandRio de Janeiro e suas águas: um olhar ambiental sobre as inundações cariocasAinda não há avaliações
- Restauração Ecológica De Áreas De Preservação Permanente Na Bacia Do Médio ParanapanemaNo EverandRestauração Ecológica De Áreas De Preservação Permanente Na Bacia Do Médio ParanapanemaAinda não há avaliações
- Eco-inovação e Conhecimentos Tradicionais AssociadosNo EverandEco-inovação e Conhecimentos Tradicionais AssociadosAinda não há avaliações
- Projeto e Construo de Estruturas Metlicas e de Madeira Mba Remoto 1606422134788Documento22 páginasProjeto e Construo de Estruturas Metlicas e de Madeira Mba Remoto 1606422134788EduardoFerreiraAinda não há avaliações
- Resumo Mecânica Dos Solos 1Documento6 páginasResumo Mecânica Dos Solos 1EduardoFerreiraAinda não há avaliações
- NBR15575-3 - Sistemas de PisosDocumento40 páginasNBR15575-3 - Sistemas de PisosEduardoFerreiraAinda não há avaliações
- Check ListDocumento18 páginasCheck ListEduardoFerreiraAinda não há avaliações
- Briefing 20 PDFDocumento18 páginasBriefing 20 PDFRong JiaruiAinda não há avaliações
- Terceiro RelatórioDocumento92 páginasTerceiro Relatórioapi-3706081Ainda não há avaliações
- Universidade PaulistaDocumento19 páginasUniversidade PaulistaIgor PostigoAinda não há avaliações
- 4 Ano - Manual Do ProfessorDocumento38 páginas4 Ano - Manual Do ProfessorjoaraAinda não há avaliações
- Relatório de Versão Curricular - UFF: 1º PeríodoDocumento7 páginasRelatório de Versão Curricular - UFF: 1º PeríodoVitória MoreiraAinda não há avaliações
- Prova 1 Ecologia 2021-2Documento7 páginasProva 1 Ecologia 2021-2Eduardo Silva AlmeraoAinda não há avaliações
- Apostila Pratica de Banhos de ErvasDocumento14 páginasApostila Pratica de Banhos de ErvasRenata Oliveira SantosAinda não há avaliações
- Aula 5 Niveis TroficosDocumento34 páginasAula 5 Niveis TroficosVencifran FerreiraAinda não há avaliações
- Resumo Zoneamento CratoDocumento18 páginasResumo Zoneamento CratoCaio CoelhoAinda não há avaliações
- Proteção Dos EcossistemasDocumento7 páginasProteção Dos EcossistemasRaúl Silva100% (1)
- Atividades 3 Ano.Documento6 páginasAtividades 3 Ano.Leidiane SouzaAinda não há avaliações
- A Importância Da EA Na Proteção Da Biodiversidade No BrasilDocumento6 páginasA Importância Da EA Na Proteção Da Biodiversidade No BrasilMarco Lacerda de OliveiraAinda não há avaliações
- O Ambiente OrganizacionalDocumento4 páginasO Ambiente Organizacionalitalotaumaturgo100% (1)
- Classifica As Seguintes Afirmações em VerdadeirasDocumento4 páginasClassifica As Seguintes Afirmações em VerdadeirasMatilde EspadaAinda não há avaliações
- Cartilha Plantar Árvores para Colher o Futuro PDFDocumento21 páginasCartilha Plantar Árvores para Colher o Futuro PDFRamon César RyeffyAinda não há avaliações
- Hidrologia eXERCICIOS rESOLVIDOSDocumento3 páginasHidrologia eXERCICIOS rESOLVIDOSGilvan Francisco Ribeiro100% (2)
- PT Política de Desenvolvimento de Energias Novas e Renováveis em Moçambique-Biomassa Direcção Nacional de Energias Novas e RenováveisDocumento19 páginasPT Política de Desenvolvimento de Energias Novas e Renováveis em Moçambique-Biomassa Direcção Nacional de Energias Novas e RenováveisEdgar Víctor ChitataAinda não há avaliações
- IT-GSS-0006 - 3 - ANÁLISE DE SEGURANÇA DA TAREFA. Rev03Documento11 páginasIT-GSS-0006 - 3 - ANÁLISE DE SEGURANÇA DA TAREFA. Rev03cleitonpsfibrasAinda não há avaliações
- Anais Ix Sapis Setembro 2020Documento900 páginasAnais Ix Sapis Setembro 2020Arlindo NetoAinda não há avaliações
- ICS - Portugues 2017 - Catálogo IPQ PDFDocumento38 páginasICS - Portugues 2017 - Catálogo IPQ PDFmargaridaAinda não há avaliações
- MILHO - Elementos de Clima e SoloDocumento46 páginasMILHO - Elementos de Clima e SoloEdno Negrini Jr100% (3)
- LAIA - Movimentação de Carga Em00Documento1 páginaLAIA - Movimentação de Carga Em00Diana MoraisAinda não há avaliações
- Simulado Geografia, História, Ciências - CarolDocumento6 páginasSimulado Geografia, História, Ciências - CarolJonathan AlvesAinda não há avaliações
- 53 229 1 PBDocumento14 páginas53 229 1 PBNeymaAinda não há avaliações
- Aol 5 - Otávio Daniel Granja RodriguesDocumento2 páginasAol 5 - Otávio Daniel Granja RodriguesOtávio DanielAinda não há avaliações