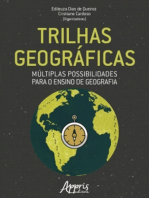Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Geografia e Giro Descolonial Experiencia
Geografia e Giro Descolonial Experiencia
Enviado por
Laís LimaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Geografia e Giro Descolonial Experiencia
Geografia e Giro Descolonial Experiencia
Enviado por
Laís LimaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
territórios.
Afirmam a necessidade O presente livro é um desdobramento
GIRO DESCOLONIAL
GEOGRAFIA E
de uma descolonização que do I Seminário Geografa e giro
valorize outras racionalidades, descolonial: experiências, pensamentos
outras epistemes, outras formas de e horizontes de renovação do
saber, viver e existir oriundas das pensamento crítico realizado em
experiências de re-existências dos Valter do Carmo Cruz • Carlos Walter Porto-Gonçalves • novembro de 2014 na Universidade
grupos subalternizados. Federal Fluminense-UFF. Tal
Renato Emerson dos Santos • Denílson Araújo de Oliveira •
seminário foi organizado pelos grupos
Trata-se de um pequeno passo
Gabriel Siqueira Corrêa • Carolina de Freitas Pereira • de pesquisa NETAJ/UFF (Núcleo
em uma longa caminhada ainda a
de Estudos Sobre Territórios, Ações
ser percorrida para a construção Jorge Montenegro e Otávio Gomes Rocha •
Coletivas e Justiça) e NEGRA/FFP-
de uma “biblioteca descolonial”
Simone Raquel Batista Ferreira • Marilda Teles Marcai • UERJ (Núcleo de Estudo e Pesquisa
a partir da geografia produzida
em Geografa Regional da África e da
em nosso país. Esperamos que tal Marcelo Argenta Câmara • Eduardo Barcelos •
Diáspora) com apoio do Programa
obra cumpra o papel de fomentar e
Marcos Vinícius da Costa Lima • Edir Augusto Dias Pereira • de Pós-Graduação em Geografia da
ampliar o interesse e os debates entre
Universidade Federal Fluminense –
os geógrafos(as) sobre os temas e Mateus de Moraes Servilha • Claudio Barría Mancilla •
POSGEO-UFF.
questões aqui tratados.
Lina María Hurtado Gómez
Denílson Araújo de Oliveira (org.)
Valter do Carmo Cruz
O seminário teve como objetivo reunir
um conjunto de pesquisadores(as)
Valter do Carmo Cruz que, em sua maioria, foram ou
e Denílson Araújo de Oliveira Coleção espaço, território e paisagem
são alunos(as) ou professores(as)
do Programa de Pós-Graduação
em Geografia da Universidade
Federal Fluminense – UFF e que
vêm desenvolvendo pesquisas que
se orientam por uma perspectiva
epistêmica, ética e política, alinhados
com ou inspirados no chamado
pensamento descolonial latino-
GEOGRAFIA E americano.
O livro que o leitor tem em mãos
GIRO DESCOLONIAL é o resultado desse rico, profundo
e desafiante esforço coletivo para
EXPERIÊNCIAS, IDEIAS E HORIZONTES se estabelecer um diálogo mais
DE RENOVAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO efetivo entre a geografia brasileira
e o pensamento descolonial latino-
americano. Os textos fazem uma
Valter do Carmo Cruz crítica a colonialidade do saber e
ao eurocentrismo como narrativa
Denílson Araújo de Oliveira (org.) colonial do mundo que subalterniza
saberes, culturas, grupos, povos e
capa_geografia_UFF.indd 1 27/1/17 14:59
GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL:
EXPERIÊNCIAS, IDEIAS E HORIZONTES
DE RENOVAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO
miolo_geografia_UFF.indd 1 30/01/17 17:16
Conselho Editorial
Arlete Moyses Rodrigues (UNICAMP)
Carlos Walter Porto Gonçalves (UFF)
Doralice Satyro Maia (UFPB)
Heloisa Soares De Moura Costa (UFMG)
Marcio Piñon De Oliveira (UFF)
Olga Lucia C. De Freitas Firkowski (UFPR)
Orlando Alves Dos Santos Jr (UFRJ)
Rogério Haesbaert (UFF)
Ruy Moreira (UFF)
Sandra Lencioni (USP)
miolo_geografia_UFF.indd 2 30/01/17 17:16
Valter do Carmo Cruz
e Denílson Araújo de Oliveira
(Organizadores)
GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL:
EXPERIÊNCIAS, IDEIAS E HORIZONTES
DE RENOVAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO
Valter do Carmo Cruz • Carlos Walter Porto-Gonçalves •
Renato Emerson dos Santos • Denílson Araújo de Oliveira
• Gabriel Siqueira Corrêa • Carolina de Freitas Pereira
• Jorge Montenegro • Otávio Gomes Rocha •
Simone Raquel Batista Ferreira • Marilda Teles Maracci •
Marcelo • Argenta Câmara • Eduardo Barcelos •
Marcos Vinícius da Costa Lima • Edir Augusto Dias Pereira •
Mateus de Moraes Servilha • Claudio Barría Mancilla •
Lina María Hurtado Gómez
miolo_geografia_UFF.indd 3 30/01/17 17:16
© 2017 by Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira
Direitos desta edição reservados a Letra Capital Editora - Av. Treze de Maio, 13, sala 1301 - Centro CEP 20031-901
Tels. (21) 3553-2236 2215-3781 - www.letracapital.com.br E-mail: vendas@letracapital.com.br
É proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem autorização expressa da Editora.
Coleção: Espaço, Território e Paisagem
Coordenação: Jorge Luiz Barbosa e Ester Limonad
Estagiários: Renata Scansetti e Jhonatan N. Perlingeiro
Projeto gráfico, produção editorial e diagramação: REC design
Copidesque e revisão gráfica: REC design
Capa: REC design (Montagem com base no mural El hombre en el cruce de caminos de Diego Riviera -1933)
CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA FONTE
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ
G31
Geografia e giro descolonial: experiências, ideias e horizontes de renovação do pensamento
crítico / organização Valter do Carmo Cruz, Denílson Araújo de Oliveira. -- 1. ed. -- Rio de
Janeiro : Letra Capital, 2017.
388 p. : il. ; 16x23 cm.
Inclui bibliografia
ISBN: 978-85-7785-512-4
1. Movimentos sociais. 2. Geografia humana. I. Cruz, Valter do Carmo. II. Oliveira, Denílson
Araújo de.
17-39173 CDD: 325
CDU: 327
Proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio ou processo, seja reprográfico, fotográfico, gráfico, microfil-
magem etc. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas e/ou editoriais. A violação dos direitos auto-
rais é punível como crime (Código Penal, art. 184 e §§; Lei 6.895/80), com busca, apreensão e indenizações diversas
(Lei 9.610/98 – Lei dos Direitos Autorais – arts. 122, 123, 124 e 126).
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Reitor
Sidney Luiz de Matos Mello
Vice-Reitor
Antônio Claudio Lucas da Nóbrega
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Roberto Kant de Lima
Programa de Pós-Graduação em Geografia
Coordenador
Marcio Piñon de Oliveira
Subcoordenador
Rogério Haesbaert
miolo_geografia_UFF.indd 4 30/01/17 17:16
APRESENTAÇÃO 9
I – GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL: EXPERIÊNCIAS, IDEIAS E
HORIZONTES DE RENOVAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO
Geografia e pensamento descolonial: notas sobre um diálogo necessário para
a renovação do pensamento crítico 15
Valter do Carmo Cruz
De saberes e de territórios: diversidade e emancipação a partir da
experiência latino-americana 37
Carlos Walter Porto-Gonçalves
II – RAÇA, ESPAÇO E COLONIALIDADE DO PODER, DO SABER E DO SER
O movimento negro brasileiro e sua luta antirracismo: por uma perspectiva
descolonial 57
Renato Emerson dos Santos
Colonialidade, biopolítica e racismo: uma análise das políticas urbanas na
cidade do Rio de Janeiro 77
Denílson Araújo de Oliveira
O branqueamento do território como dispositivo colonialidade do poder:
notas sobre o contexto brasileiro 117
Gabriel Siqueira Corrêa
Racismo, espaço e colonialidade do poder, do saber e do ser: diálogos,
trajetórias e horizontes de transformação 131
Carolina de Freitas Pereira
miolo_geografia_UFF.indd 5 30/01/17 17:16
III – POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES TRADICIONAIS E AS LUTAS
PELA DESCOLONIZAÇÃO DO SABER, DO PODER E DO TERRITÓRIO
A ordem moderno-colonial do desenvolvimento: desafios críticos desde uma
leitura das práticas e das vozes das comunidades tradicionais
Jorge Montenegro e Otávio Gomes Rocha 145
Conflitos territoriais e a explicitação de matrizes de racionalidade divergen-
tes: projetos desenvolvimentistas e a emergência de r-existências dos povos e
comunidades tradicionais no Espírito Santo 179
Simone Raquel Batista Ferreira
Percursos descoloniais nas lutas territoriais dos Tupiniquim e dos Guarani
Mbyá no Espírito Santo 209
Marilda Teles Maracci
Pensar a colonialidade, praticar a descolonização: apontamentos para uma
prática contra-hegemônica 247
Marcelo Argenta Câmara
Povos e comunidades tradicionais, conflitos territoriais e lutas pela
descolonização do saber, do poder e do território 261
Eduardo Barcelos
As múltiplas faces da colonialidade hegemônica na genealogia das práticas
territoriais do movimento indígena, a partir da segunda metade do século
XX no Brasil 271
Marcos Vinícius da Costa Lima
IV – REPRESENTAÇÕES E IMAGINÁRIOS GEOGRÁFICOS (DES)COLONIAIS
Horizonte geográfico do imaginário moderno-colonial e as representações
espaciais da Amazônia 301
Edir Augusto Dias Pereira
Região, colonialidade e subdesenvolvimento 321
Mateus de Moraes Servilha
miolo_geografia_UFF.indd 6 30/01/17 17:16
Memória, imaginário descolonial e aura da arte e da cultura popular na
nossa América 345
Claudio Barría Mancilla
Conflictos por la representación y las prácticas, por los saberes y haceres en
las fronteras internas colombianas: el caso de La Macarena 369
Lina María Hurtado Gómez
SOBRE OS AUTORES 383
miolo_geografia_UFF.indd 7 30/01/17 17:16
miolo_geografia_UFF.indd 8 30/01/17 17:16
Apresentação
O presente livro é resultado de um seminário realizado no mês de novembro
de 2014 na Universidade Federal Fluminense denominado I Seminário Geografia
e giro descolonial: experiências, pensamentos e horizontes de renovação do pensamen-
to crítico. Tal seminário foi organizado pelos grupos de pesquisa NETAJ/UFF
(Núcleo de Estudos Sobre Territórios, Ações Coletivas e Justiça) e NEGRA/FFP-
-UERJ (Núcleo de Estudo e Pesquisa em Geografia Regional da África e da Diás-
pora) com apoio do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade
Federal Fluminense – POSGEO-UFF.
O seminário teve como um dos objetivos reunir um conjunto de pesquisa-
dores que, em sua maioria, foram ou são alunos ou professores do Programa de
Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense – UFF e que
vêm desenvolvendo pesquisas que se orientam por uma perspectiva epistêmica,
ética e política, alinhados com ou inspirados no chamado pensamento descolo-
nial latino-americano. Esses pesquisadores, na sua maioria geógrafos, exercem
suas atividades de pesquisa, ensino e extensão em diferentes universidades, locali-
zadas em diversas regiões do Brasil, a exemplo de pesquisadores do Sudeste (Rio
de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo), do Sul (Paraná e Rio Grande do Sul)
e da Amazônia (Pará). O seminário contou ainda com a participação de colegas
de países latino-americanos como Colômbia e Chile. Além dos pesquisadores, o
evento teve a importante participação de diferentes movimentos sociais, como é
caso do movimento negro, do movimento indígena, do movimento camponeses,
atingidos por grandes projetos, e outros.
Os pesquisadores reunidos no seminário também realizaram uma homenagem
a Carlos Walter Porto-Gonçalves, professor do Departamento e do Programa de
Pós-Graduação em Geografia na Universidade Federal Fluminense – UFF e co-
ordenador do Laboratório de Estudos de Movimentos Sociais e Territorialidades
miolo_geografia_UFF.indd 9 30/01/17 17:16
10 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
– LEMTO, abrigado nessa mesma instituição. A homenagem foi o reconheci-
mento do pioneirismo que o professor Carlos Walter Porto-Gonçalves exerceu e
exerce no debate do chamado pensamento descolonial na geografia brasileira. Há
mais de uma década e meia o professor vem contribuindo através de seus escritos,
palestras, aulas, organizações de eventos e orientações de graduação, mestrado e
doutorado para construção e divulgação de uma geografia crítica em chave desco-
lonial. Essa influência está expressa pela relação e a colaboração dos autores deste
livro com a obra do professor homenageado. Reafirmando essa homenagem, con-
tamos com um texto de sua autoria na presente publicação.
O livro está estruturado em 16 capítulos distribuídos em quatro partes. Essa
configuração reproduz, em grande parte, a estrutura do seminário e reproduz a
intervenção de cada participante nas mesas do evento.
A primeira parte, denominada “Geografia e giro descolonial: experiências,
ideias e horizontes de renovação do pensamento crítico”, corresponde ao diálogo
de abertura do seminário, tem um caráter introdutório ao debate e é composta
por dois textos de caráter mais teórico de autoria de Valter do Carmo Cruz e Car-
los Walter Porto-Gonçalves. Nessa sessão inaugural é apresentada aos leitores uma
reflexão sobre as principais linhas de força que constituem o chamado pensamen-
to descolonial, um pouco da sua história, suas bases conceituais e os desafios que
implicam o diálogo entre esse campo de pensamento e a geografia como campo
disciplinar. Os textos apontam uma crítica ao eurocentrismo como narrativa co-
lonial do mundo e afirmam para a necessidade de valorização de outras epistemes,
outras formas de saberes como fundamento para um projeto de emancipação que
passa pela descolonização do poder, do saber, do ser e da natureza.
A segunda parte, denominada de “Raça, espaço e colonialidade do poder, do
saber e do ser”, é composta por quatro textos de autoria de Renato Emerson
dos Santos, Denílson Araújo de Oliveira, Gabriel Siqueira Corrêa e Carolina de
Freitas Pereira respectivamente. Os textos têm como centralidade o debate da
raça e do racismo como ponto estruturante da colonialidade do poder como pa-
drão histórico, relações de poder que historicamente configuraram desigualdades,
opressões, formas de classificação social e subalternizações em nossa sociedade.
Esse processo tem uma geograficidade, pois ela é constitutiva da produção social
do espaço, de uma racialização do espaço expressa nas velhas e novas políticas de
branqueamento do território. Mas esse processo foi e é historicamente marcado
por múltiplas formas de resistências cotidianas ou organizadas, como, por exem-
miolo_geografia_UFF.indd 10 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 11
plo, o movimento negro, que vem construindo discursos e práticas antirracistas
e descoloniais. Os textos nos oferecem reflexões teóricas, históricas e geográficas
que nos mostram o antagonismo entre, por um lado, o racismo como um padrão
de poder que produz, organiza e regula as relações e práticas socioespaciais e, por
outro lado, as lutas e práticas de resistências que buscam criar contraespaços an-
tirracistas e descoloniais.
A terceira parte, intitulada “Povos indígenas e comunidades tradicionais e as
lutas pela descolonização do saber, do poder e do território”, é composta por seis
textos de autoria de Jorge Montenegro e Otávio Gomes Rocha, Simone Raquel
Batista Ferreira, Marilda Teles Maracci, Marcelo Argenta Câmara, Marcos Viní-
cius da Costa Lima e Eduardo Barcelos respectivamente. Os textos nos mostram
como os povos indígenas, as comunidades quilombolas, faxinalenses e outros po-
vos e comunidades tradicionais vêm se defrontando com as políticas moderno-co-
loniais de desenvolvimento do Estado e do grande capital que vem colonizando
seus territórios. Os autores nos mostram como esses grupos subalternizados vêm
construindo práticas de re-existência fundadas em outras racionalidades, saberes
e formas de viver e existir. A luta pelas condições materiais de vida, por dignidade
e por autonomia ganha forma e materialidade na luta pelo direito ao território.
A luta pela descolonização de poder, de saber e do ser para esses povos só tem
sentido se for luta pela descolonização dos seus territórios de vida. Os autores nos
trazem as experiências concretas de luta e resistência de povos e comunidades que
em suas práticas cotidianas constroem outras possibilidades de vida.
A quarta e última parte, “Representações e imaginários geográficos (des)colo-
niais”, é composta por quatro textos de autoria de Edir Augusto Dias Pereira, Ma-
teus de Moraes Servilha, Claudio Barría Mancilla e Lina María Hurtado Gómez
respectivamente. Os textos têm como centralidade a crítica de como a coloniali-
dade está presente no conjunto de narrativas, discursos e representações espaciais
produzidas pelo Estado, pela academia, pela arte que produz e reproduz uma
imaginário eurocêntrico moderno-colonial sobre certos grupos, povos e regiões.
Os autores nos mostram como os dispositivos discursivos produzem estereótipos,
estigmas e invisibilidades, negando a diversidade e a alteridade.
O presente livro é o início de um esforço coletivo para se estabelecer um diá-
logo mais efetivo entre o pensamento descolonial latino-americano e a produção
intelectual no campo da geografia brasileira. Trata-se de um pequeno passo em
longo caminho ainda a ser percorrido para a construção de uma “biblioteca des-
miolo_geografia_UFF.indd 11 30/01/17 17:16
12
colonial” a partir da geografia produzida em nosso país. Esperamos que tal obra
cumpra o papel de fomentar e ampliar o interesse e os debates entre os geógrafos
sobre os temas e questões aqui tratados.
Valter do Carmo Cruz
e Denílson Araújo de Oliveira
miolo_geografia_UFF.indd 12 30/01/17 17:16
I – GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL:
EXPERIÊNCIAS, IDEIAS E HORIZONTES DE
RENOVAÇÃO DO PENSAMENTO CRÍTICO
miolo_geografia_UFF.indd 13 30/01/17 17:16
miolo_geografia_UFF.indd 14 30/01/17 17:16
Geografia e pensamento descolonial:
notas sobre um diálogo necessário para a
renovação do pensamento crítico
Valter do Carmo Cruz
Normalmente, em nossas reflexões, tratamos a nossa experiência colonial e sua
herança como coisa do passado, colocando tal herança como algo superado com
o fim do colonialismo. No entanto, o fim do colonialismo na América Latina,
como relação econômica e política de dominação na segunda metade do século
XIX, não significou o fim da colonialidade como relação social, cultural e inte-
lectual (QUIJANO, 2005). Longe de ser algo irrelevante, a colonialidade é um
resíduo irredutível de nossa formação social e está arraigada em nossa sociedade.
Manifestando-se das mais variadas maneiras em nossas instituições políticas e
acadêmicas, nas relações de dominação/opressão, em nossas práticas de sociabi-
lidades autoritárias, em nossa memória, linguagem, imaginário social, em nossas
subjetividades e, consequentemente, na forma com produzimos conhecimento.
Esse processo de constituição da colonialidade do poder, do saber, do ser e da natu-
reza tem na conquista ibérica do continente americano seu momento inaugural. A
partir do domínio ibérico, dois processos articuladamente conformam a nossa his-
tória posterior: a modernidade e a organização colonial do mundo. Com o início do
colonialismo na América origina-se não apenas a organização colonial do mundo,
mas, simultaneamente, a constituição colonial dos saberes, das linguagens, da memória
e do imaginário (LANDER, 2005). Desse modo, inaugura-se, por um lado, o proje-
to civilizatório da modernidade, que busca afirmar e celebrar a experiência histórica
miolo_geografia_UFF.indd 15 30/01/17 17:16
16 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
particular da Europa como sendo algo universal e superior, através de elementos
como o racionalismo, o humanismo, a ciência, a ideia de progresso, o Estado etc.
Mas, por outro lado, nesse processo, negaram-se e subalternizaram-se outras matri-
zes de racionalidades, outras formas de razão, outros projetos civilizatórios, outras
cosmovisões, com outros saberes, linguagens, memórias e imaginários.
Nessa perspectiva de compreensão de nossa história, é impossível pensar a mo-
dernidade sem a colonialidade; não dá para pensar nos esplendores e nos triunfos
da modernidade ocidental sem pensar na colonialidade do poder, do saber, do ser
e da natureza. Essa ideia implica ver a modernidade de forma indissociável da
colonialidade. A colonialidade é parte constitutiva da modernidade e não de-
rivativa desta; a colonialidade é seu lado sombrio, oculto e silenciado. Assim, a
modernidade/colonialidade são duas faces de uma mesma moeda (MIGNOLO,
2003; DUSSEL, 2005). Na gênese do projeto civilizatório da modernidade está
presente uma violência matricial do colonialismo e da colonialidade do poder, do
saber, do ser e da natureza que, segundo Quijano (2005), é uma forma de domi-
nação fundada na crença de que existe uma “natural” superioridade étnico-racial
e epistêmica do europeu sobre outros povos.
Santiago Castro-Gómez (2005b), analisando as formulações de Anibal Quija-
no, afirma que a colonialidade é uma forma de dominação que não visava apenas
submeter militarmente outros povos e destruí-los pela força, mas sim visa trans-
formar sua alma com o objetivo de transformar radicalmente suas tradicionais for-
mas de conhecer o mundo e a si mesmo, e, assim, levando o colonizado a adotar o
próprio universo cognitivo do colonizador (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p. 58b).
Dessa forma, a colonialidade do poder, do poder, do ser e da natureza não é
uma forma de dominação que usa exclusivamente os meio coercitivos para o
exercício do poder; não se trata apenas de reprimir os dominados, mas também da
instituição e naturalização do imaginário cultural europeu como única forma de
relacionamento com a natureza, com o mundo social e com a própria subjetividade.
Esse projeto de dominação moderno-colonial visou à mudança radical das estru-
turas cognitivas, afetivas e valorativas do colonizado (CASTRO-GÓMEZ, 2005, p.
59-60). Isso implica vermos, segundo Aníbal Quijano, que processo de coloni-
zação significou a colonização do imaginário do colonizado materializada numa
repressão sobre os modos de conhecer e produzir conhecimentos; em suma, uma
colonização nos padrões de produzir conhecimentos e significação do mundo. Esse
processo se realizou a partir de três dispositivos:
miolo_geografia_UFF.indd 16 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 17
Em primeiro lugar, expropriaram as populações colonizadas – entre seus des-
cobrimentos culturais – aqueles que resultavam mais aptos para o desenvolvi-
mento do capitalismo e em benefício do centro europeu. Em segundo lugar,
reprimiram tanto como puderam, ou seja, em variáveis medidas de acordo
com os casos, as formas de produção de conhecimento dos colonizados, seus
padrões de produção de sentidos, seu universo simbólico, seus padrões de ex-
pressão e de objetivação da subjetividade. A repressão neste campo foi reco-
nhecidamente mais violenta, profunda e duradoura entre os índios da América
ibérica, a que condenaram a ser uma subcultura camponesa, iletrada, despo-
jando-os de sua herança intelectual objetivada. Algo equivalente ocorreu na
África. Sem dúvida muito menor foi a repressão no caso da Ásia, onde portan-
to uma parte importante da história e da herança intelectual, escrita, pôde ser
preservada. E foi isso, precisamente, o que deu origem à categoria de Oriente.
Terceiro lugar, forçaram – também em medidas variáveis em cada caso – os
colonizados a aprender parcialmente a cultura dos dominadores em tudo que
fosse útil para a reprodução da dominação, seja no campo da atividade mate-
rial, tecnológica, como da subjetiva, especialmente religiosa. É este o caso da
religiosidade judaico-cristã. Todo esse acidentado processo implicou no longo
prazo uma colonização das perspectivas cognitivas, dos modos de produzir ou
outorgar sentido aos resultados da experiência material ou intersubjetiva, do
imaginário, do universo de relações intersubjetivas do mundo; em suma, da
cultura. (QUIJANO, 2005, p. 237)
Nesse sentido, podemos afirmar, segundo Castro-Gómez (2005b), que a colo-
nialidade do poder, do saber, do ser e da natureza é, sobretudo, a intenção do coloni-
zador de eliminar “as muitas formas de conhecer” (e viver) dos povos subjugados e
colonizados e substituir por outras novas formas de conhecer (e viver) que serviam
diretamente aos propósitos dos processos civilizatórios do regime colonial.
Trata-se de uma verdadeira violência epistêmica1, ou seja, uma forma de exer-
cício do poder que produz a invisibilidade do outro, expropriando-o de sua pos-
sibilidade de representação e de sua autorrepresentação; isto é, trata-se do apaga-
mento, do anulamento e da supressão dos sistemas simbólicos, de subjetivação e
representação que o outro tem de si mesmo, bem como de suas formas concretas
de representações e registro de suas memórias e experiências. Esse processo im-
1 O conceito de violência epistêmica é usado por Santiago Castro-Gómez (2005) em um diálogo com for-
mulação da pensadora indiana Gayatri Spivak.
miolo_geografia_UFF.indd 17 30/01/17 17:16
18 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
plicou aquilo que Boaventura de Sousa Santos denominou de “epistemicídio”,
ou seja, aniquilação da diversidade e da riqueza epistêmica do mundo, resultado
do caráter totalitário da racionalidade moderna expressa no exclusivismo epis-
temológico, pautados na ciência moderna que desqualificou e exterminou uma
infinidade de outras epistemes, ou seja, “outras formas de conhecer”. Isso mostra
de maneira muito clara o vínculo entre a ciência moderna e o exercício do po-
der colonial. Desse processo permaneceu uma profunda colonização epistêmica,
inclusive no pensamento crítico, que resultou em uma cosmovisão claramente
arraigada no eurocentrismo, expresso nas formulações teóricas, na forma como
construímos nossos conceitos, na maneira como estabelecemos nossas interpre-
tações, comparações de fenômenos históricos e sociais e, enfim, na maneira de
produzimos conhecimentos, modos de significação e de produção de sentido ao mundo.
II
A colonialidade como herança cultural, cognitiva e epistêmica está materiali-
zada no eurocentrismo que atravessa e orienta até os dias atuais uma grande parte
da produção intelectual produzida em ciências sociais, incluída aí a produção
dos geógrafos. O eurocentrismo, como perspectiva hegemônica de conhecimento
da versão eurocêntrica da modernidade segundo Anibal Quijano (2005), está
assentada em dois principais mitos fundacionais: (1) Em primeiro lugar, a ideia-
-imagem da história da civilização humana como uma trajetória que parte de um
estado de natureza e culmina na Europa. (2) Em segundo lugar, a forma de outor-
gar sentido às diferenças entre Europa e não Europa como diferenças de natureza
(racial) e não de história do poder (QUIJANO, 2005, p. 238).
Segundo Quijano (2005), ambos os mitos podem ser reconhecidos, inequivo-
camente, no fundamento do evolucionismo e do dualismo, pois esses são dois dos
dispositivos epistêmicos nucleares do eurocentrismo que pode ser verificado no
uso da operação de comparação e confronto entre a experiência histórica europeia
e de outras sociedades feitas a partir da perspectiva eurocêntrica de conhecimen-
to, que se utiliza de diferentes mecanismos como:
1 – Uma articulação peculiar entre um dualismo (pré-capital-capital, não eu-
ropeu-europeu, primitivo-civilizado, tradicional-moderno etc.) e um evolucio-
nismo linear, unidirecional, de algum estado de natureza à sociedade moderna
miolo_geografia_UFF.indd 18 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 19
europeia; 2 – A naturalização das diferenças culturais entre grupos humanos
por meio de sua codificação com a ideia de raça; 3 – A distorcida relocalização
temporal de todas essas diferenças, de modo que tudo aquilo que é não euro-
peu é percebido como passado. (QUIJANO, 2005, p. 238)
Todas estas operações intelectuais são claramente interdependentes e não te-
riam podido ser cultivadas e desenvolvidas sem a colonialidade do poder. Ainda
segundo Quijano (2005, p. 239), o fato de que os europeus ocidentais imagina-
ram ser a culminação de uma trajetória civilizatória desde um estado de natureza,
levou-os também a pensar-se como os únicos modernos da humanidade e de sua
história, isto é, como o novo e ao mesmo tempo o mais avançado da espécie. Mas já
que, ao mesmo tempo, atribuíam ao restante da espécie o pertencimento a uma
categoria, por natureza, inferior e por isso anterior, isto é, ao passado no processo da
espécie, os europeus imaginaram também serem não apenas os portadores exclusi-
vos de tal modernidade, mas igualmente seus exclusivos criadores e protagonistas.
Essa narrativa eurocêntrica está pautada em uma monocultura do tempo linear
(SOUSA SANTOS, 2006) que compreende a história como tendo direção e sen-
tido únicos, organizando a totalidade do espaço e do tempo (todas as culturas, povos
e territórios presentes e passados) em uma grande narrativa universal.
Esta é uma construção eurocêntrica, que pensa e organiza a totalidade do tem-
po e do espaço para toda a humanidade do ponto de vista de sua própria
experiência, colocando sua especificidade histórico-cultural como padrão de
referência superior e universal. Mas é ainda mais que isso. Este metarrelato da
modernidade é um dispositivo de conhecimento colonial e imperial em que se
articula essa totalidade de povos, tempo e espaço como parte da organização
colonial/imperial do mundo. Uma forma de organização e de ser da socieda-
de transforma-se mediante este dispositivo colonizador do conhecimento na
forma “normal” do ser humano e da sociedade. As outras formas de ser, as
outras formas de organização da sociedade, as outras formas de conhecimento,
são transformadas não só em diferentes, mas em carentes, arcaicas, primitivas,
tradicionais, pré-modernas. São colocadas num momento anterior do desen-
volvimento histórico da humanidade (FABIAN, 1983), o que, no imaginário
do progresso, enfatiza sua inferioridade. (LANDER, 2005, p. 34)
miolo_geografia_UFF.indd 19 30/01/17 17:16
20 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Nessa perspectiva, o tempo é pensado somente em uma visão diacrônica, na
qual a história é compreendida a partir de estágios e etapas sucessivas (da tradição
à modernidade). Essa maneira de pensar o tempo-espaço tem como referências
um imaginário e uma ideologia do progresso que se expressa pelas ideias de desen-
volvimento, crescimento, modernização e globalização, entre outras, e que com-
põe a cosmovisão da modernidade ocidental. Essa visão, segundo Lander (2005),
foi historicamente produzida, legitimada em grande parte pela produção das ci-
ências sociais (incluindo a geografia) e teve como consequência duas implicações:
Em primeiro lugar está a suposição da existência de um metarrelato univer-
sal que leva a todas as culturas e a todos os povos do primitivo e tradicional
até o moderno. A sociedade industrial liberal é a expressão mais avança-
da desse processo histórico, e por essa razão define o modelo que define a
sociedade moderna. A sociedade liberal, como norma universal, assinala o
único futuro possível de todas as outras culturas e povos. Em segundo lugar,
e precisamente pelo caráter universal da experiência histórica europeia, as
formas do conhecimento desenvolvidas para a compreensão dessa sociedade
se converteram nas únicas formas válidas, objetivas e universais de conheci-
mento. As categorias, conceitos e perspectivas (economia, Estado, sociedade
civil, mercado, classes etc.) se convertem, assim, não apenas em categorias
universais para a análise de qualquer realidade, mas também em proposições
normativas que definem o dever ser para todos os povos do planeta. Estes
conhecimentos convertem-se, assim, nos padrões a partir dos quais se podem
analisar e detectar as carências, os atrasos, os freios e impactos perversos que
se dão como produto do primitivo ou o tradicional em todas as outras socie-
dades. (LANDER, 2005, p. 34)
Essa cosmovisão cria uma forma muito particular de pensar a relação espaço-
tempo. Segundo Doreen Massey (2004), todas essas narrativas compartilham de
uma imaginação geográfica que rearranja as diferenças espaciais em termos de
sequência temporal, suprimindo, desse modo, a espacialidade e a possibilidade da
multiplicidade e da diferença. “A implicação disso é que lugares não são conside-
rados genuinamente diferentes; na realidade, eles estão simplesmente à frente ou
atrás numa mesma história: suas ‘diferenças’ consistem apenas no lugar que eles
ocupam na fila da história” (p. 15).
miolo_geografia_UFF.indd 20 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 21
Isso significa que os lugares, as populações, as comunidades são tratados como
se estivessem numa fila histórica que vai do estágio dos mais “selvagens” até os
mais “civilizados”, dos mais “atrasados” aos mais “avançados”, dos mais “subde-
senvolvidos” aos mais “desenvolvidos”. Nessa forma de conceber e classificar as
experiências sociais e os lugares e, consequentemente, as identidades, as popu-
lações denominadas “tradicionais” são classificadas como “atrasadas” e “impro-
dutivas” em detrimento dos tempos e espaços que são “modernos”, “avançados”
e “produtivos”. Assim, essa visão colonialista caracteriza as expressões culturais
de tais populações como “tradicionais” ou “não modernas”, como estando em
processo de transição em direção à modernidade, e lhes nega toda possibilidade
de lógicas culturais ou de cosmovisões próprias. Ao colocá-las como expressão do
passado, nega-se sua contemporaneidade (LANDER, 2005).
Trata-se de uma representação/narrativa que celebra cosmovisão da moder-
nidade/colonialidade, instituindo um imaginário em que se atribui, a priori,
uma positividade ao novo, ao moderno, e uma negatividade ao velho, ao passa-
do, ao tradicional. Essa perspectiva de compreensão da história e da realidade
está pautada em uma ideologia do progresso e em uma espécie de “fundamen-
talismo do novo”. O geógrafo Carlos Walter Porto-Gonçalves (2005) usa essa
expressão para chamar a atenção para a obsessão do imaginário da modernidade
pelo novo, pela velocidade, pela mudança, pelo progresso, criando uma justi-
ficativa ideológica para todas as formas de violência cometidas em nome do
“desenvolvimento” e da “modernização”. Nessa perspectiva, aqueles que não
conseguirem incorporar-se a esta marcha inexorável da história estão destina-
dos a desaparecer. As outras formas de ser, as outras formas de organização
da sociedade, as outras formas de conhecimento são transformadas não só em
diferentes, mas em carentes, arcaicas, primitivas, tradicionais, pré-modernas e,
como afirma Lander (2005), são situadas, num momento anterior do desenvol-
vimento histórico da humanidade, o que, no imaginário do progresso, enfatiza
sua inferioridade.
Para superarmos essas narrativas coloniais, precisamos repensar a forma como
concebemos o tempo, o espaço e as diferenças, pois na estrutura dessas narrativas
está sempre implícita certa forma de conceber o tempo-espaço. Como já vimos,
essa cosmovisão/narrativa fundada no mito da modernidade acima descrito está
estreitamente vinculada com o colonialismo e a colonialidade, e tem uma forma
muito particular de conceber o tempo-espaço, que tem dois efeitos perversos: o
miolo_geografia_UFF.indd 21 30/01/17 17:16
22 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
primeiro é supressão da multiplicidade contemporânea do espaço, e o segundo é
a redução da temporalidade a um único tempo (MASSEY, 2005).
Segundo Massey (2005), essa cosmovisão tem algumas consequências na for-
ma como pensamos o espaço, o tempo e a política, pois se trata de uma imagina-
ção (uma conceituação implícita) a qual esconde a possibilidade de analisarmos
a produção da desigualdade do mundo que se realiza na atualidade. Além disso,
essa imaginação geográfica reduz a diferença entre países, regiões ou lugares a
uma posição “na fila histórica”; isso, por sua vez, produz um efeito decisivo: nega
a igualdade de voz, sendo uma maneira de depreciar, negar que somos verda-
deiramente coetâneos – a existência de coetâneos de uma multiplicidade é uma
propriedade essencial do espaço, afirma Doreen Massey.
Essa forma de conceber o tempo, o espaço e as diferenças está claramente an-
corada na grande “narrativa” universal da modernidade/colonial; é uma forma de
imaginação geográfica, uma leitura do mundo que opera através de uma transfor-
mação, uma reorganização da geografia (uma simultaneidade espacial de diferen-
ças) em uma única fila histórica (uma sucessão de etapas e períodos). Assim, cada
vez que caracterizamos um país, uma região, uma cultura como “atrasada”, como
“primitiva”, negamos sua diferença atual. Além disso, esse tipo de raciocínio natu-
raliza essas desigualdades em forma de diferença, impedindo uma reflexão política
sobre os processos e as relações que produzem as desigualdades, as diferenças e as
hierarquias. Esta cosmologia de “uma única narrativa” oblitera as multiplicidades,
as heterogeneidades contemporâneas do espaço. Reduz as coexistências simultâ-
neas a um lugar na “fila da história” (MASSEY, 2005).
A crítica a essa forma de compreendermos espaço-tempo implica novos com-
promissos epistemológicos, políticos e éticos. Doreen Massey (2005) sugere uma
nova forma de imaginação geográfica, a construção de uma nova “cosmovisão”
que reconstrua a relação entre tempo e espaço, construindo uma nova narrativa
que não seja uma narrativa colonial do mundo, mas uma narrativa descolonial.
Desse modo, questiona se não devemos imaginar os diferentes lugares, territórios
e culturas como tendo suas próprias trajetórias, suas próprias histórias específicas
e o potencial para seus próprios, talvez diferentes, futuros.
Para construirmos uma narrativa descolonial, é preciso pensar o espaço como
esfera da possibilidade da existência da multiplicidade; isso implica, segundo
Massey (2005, colocar a questão da diferença no centro do debate político, per-
mitindo pensarmos na existência de múltiplas vozes, múltiplas temporalidades,
miolo_geografia_UFF.indd 22 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 23
múltiplas histórias na contemporaneidade, descentrando uma perspectiva etno-
cêntrica que afirmam histórias locais como universais, mas que são particulares;
entretanto, pelo exercício do poder e do saber, subalternizam outras histórias,
temporalidades, sujeitos e saberes.
Portanto, para Massey (2005), a verdadeira possibilidade de qualquer reco-
nhecimento sério da multiplicidade e da diferença depende, ele próprio, de um
reconhecimento da espacialidade.
(...) um verdadeiro reconhecimento “político” da diferença deve entendê-la
como algo mais do que um lugar numa sequência; de que um reconhecimento
mais completo da diferença deveria reconhecer que os “outros” realmente
existentes podem não estar apenas nos seguindo, mas ter suas próprias histórias
para nos contar. Neste sentido, seria concedido ao outro, ao diferente, pelo
menos um determinado grau de autonomia. Seria concedida pelo menos a
possibilidade de trajetórias relativamente autônomas. Em outras as palavras,
isso levaria em consideração a possibilidade da coexistência de uma multiplici-
dade de histórias. (MASSEY, 2005 p. 15)
Desse modo, a autora conclui que, para que haja histórias múltiplas, coexis-
tentes, deve existir espaço. Em outras palavras: “o pleno entendimento da espacia-
lidade envolve o reconhecimento de que há mais de uma estória se passando no
mundo e que essas estórias têm, pelo menos, uma relativa autonomia” (MASSEY,
2005 p. 15). Nesse sentido, o espaço deve ser entendido como: “uma simulta-
neidade de histórias inacabadas, o espaço como um momento dentro de uma
multiplicidade de trajetórias. Se o tempo é a dimensão da mudança, o espaço é a
dimensão da multiplicidade contemporânea” (MASSEY, 2005).
III
A expressão “giro descolonial” é uma forma sintética de nomear uma inflexão
epistêmica, ética e política nas ciências sociais latino-americanas que coloca o nosso
passado colonial como ponto de partida para pensarmos a especificidade de nossas
sociedades. Os autores do chamado pensamento descolonial insistem na diferença
entre o colonialismo como uma experiência de dominação política e econômica
expressa na relação entre metrópoles e colônias e a colonialidade como uma he-
miolo_geografia_UFF.indd 23 30/01/17 17:16
24 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
rança desse processo. Inúmeras vezes nos lembram de que o fim do colonialismo
não significou o fim da colonialidade. Os processos formais de independência não
significaram uma ruptura com as práticas, experiências e ideias coloniais. Essa co-
lonialidade, na interpretação desses autores, permanece ativa e atual, e, portanto,
o esforço por descolonização da sociedade, do Estado, do pensamento continua
como um horizonte e um desafio cotidiano. Essa interpretação nos obriga a ter
uma outra leitura do passado e uma compreensão mais complexa dos processos
de mudança/ruptura e continuidade na história e na geografia das sociedades la-
tino-americanas. Esses autores afirmam que a colonialidade não foi uma etapa ou
um estágio anterior à inserção das nossas sociedades na modernidade, mas uma
dimensão constitutiva da nossa própria forma de viver a modernidade.
Essa nova perspectiva epistemológica, ética e política de compreender a nossa
história e geografia que ganha destaque no momento atual não nasceu agora,
mas sim é resultado de um longo processo, fruto de muitas formas de pensar e de
agir contra o legado do colonialismo nos últimos cinco séculos. A nossa história
é a história do colonialismo e sua herança, mas também é a história das resistên-
cias e lutas dos grupos subalternizados contra essa realidade. Sempre houve lutas
concretas e formulações de pensamento que tinham como horizonte a superação
do colonialismo e da colonialidade. Portanto, o pensamento descolonial não se
restringe ao debate contemporâneo do “giro decolonial”, ele tem uma longa tra-
jetória histórica.
Nessa direção podemos identificar uma longa linhagem de pensamento crítico
que atravessou o século XIX e XX com pensadores que buscaram compreender a
especificidade das nossas sociedades periféricas através de uma interpretação de
nosso passado colonial e a necessidade de superarmos essa herança. Podemos iden-
tificar, por exemplo, uma leitura descolonial nas obras dos pensadores da teoria
da dependência, que se propuseram a rediscutir a relação entre centro e periferia
e a desvendar os mecanismos do tipo de capitalismo dependente a que os paí-
ses da América Latina estavam submetidos. Esse “espírito descolonial” orientou
movimentos filosóficos e teológicos como a teologia da libertação e a filosofia da
liberação, que se propunham outros horizontes de espiritualidade e de liberdade,
pensando a partir das vítimas e dos grupos mais vulneráveis da histórica latino-a-
mericana. É possível também identificar um esforço de descolonização no campo
da formulação de uma teoria educacional que está presente na obra de Paulo Frei-
re, marcada pela busca de uma Pedagogia da liberdade e da autonomia. O esfor-
miolo_geografia_UFF.indd 24 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 25
ço de uma crítica radical ao eurocentrismo também está fortemente presente na
crítica ao modo de fazer pesquisa e ciência formulado pelo sociólogo colombiano
Orlando Fals Borda na sua proposta de pesquisa participante e pesquisa-ação.
As contribuições latino-americanas afetaram até campos do pensamento bas-
tante consolidados, como é o caso do marxismo, por exemplo, com as contri-
buições de Mariátegui, José Marti que incluíram as questões étnico-raciais numa
interpretação materialista-histórica da realidade latino-americana. Esses apenas
são alguns exemplos, mas se fizermos uma genealogia histórica mais detalhada2
veremos que a produção do pensamento descolonial sempre esteve presente no
pensamento critico Latino-americano.
Essa longa tradição ganhou um novo fôlego pelo esforço de um conjunto de
intelectuais que no final dos anos 1990 começam a construção de uma crítica
ainda mais radical e contundente à herança eurocêntrica que está presente de
maneira extremamente atual nas sociedades latino-americanas, seja na forma das
relações de poder, na maneira de produção do conhecimento ou na produção das
sociabilidades e subjetividades cotidianas.
Esses pensadores oriundos de distintos campos disciplinares e de tradições
intelectuais distintas iniciam um processo de construção de uma rede de diá-
logo e colaboração que se desdobra na construção de encontros internacionais
e publicações coletivas em torno da crítica à colonialidade do poder, do saber,
do ser e da natureza. Diferentemente das gerações anteriores, esse grupo deno-
minado de “modernidade/colonialidade” não restringe sua crítica às heranças
econômicas-políticas de nossa experiência colonial. Suas estratégias se voltam
para a dimensão cognitiva questionando as matrizes epistêmicas de produção do
conhecimento que naturalizam um conjunto de teorias, categorias e conceitos
que nos impedem de compreender as especificidades de nossas sociedades. Além
da crítica epistemológica, esse conjunto de pensadores inicia uma crítica ontoló-
gica, trazendo para a cena a necessidade de uma reflexão sobre nossa memória,
nosso imaginário, nossa subjetividade, nossas formas de existir cotidianas.
Esse grupo tem nas formulações iniciais de Aníbal Quijano (Peru), Enrique
Dussel (Argentina/México) e Walter Mignolo (Argentina/EUA) os aportes teó-
ricos para uma crítica à ideia de modernidade, uma leitura do sistema-mundo
capitalista, moderno-colonial, e uma interpretação da constituição das socieda-
2 Para ver a genealogia do pensamento descolonial detalhada, Castro-Gómez e Grosfoguel (2007), para ver
um sumário dos conceitos e linhas de força, Escobar (2003).
miolo_geografia_UFF.indd 25 30/01/17 17:16
26 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
des latino- americanas. Somaram-se a esses percussores autores como Ramón
Grosfoguel (Porto Rico/EUA), Santiago Castro-Gómez (Colômbia), Nelson
Maldonado-Torres (Porto Rico/EUA), Edgardo Lander (Venezuela), Arturo
Escobar (Colômbia), Catherine Walsh (EUA/Equador), entre outros que vêm,
individualmente ou coletivamente, contribuindo para a construção de um pen-
samento descolonial.
Uma das críticas fundamentais do pensamento descolonial é que não existe
um conhecimento objetivo, neutro e universal, isso é um mito, uma retórica
de poder. O discurso epistemológico hegemônico da ciência e da filosofia mo-
dernas aponta para a ideia de que o conhecimento científico é des-localizado,
des-contextualizado e des-incorporado e, portanto, trata-se de um conhecimento
abstrato e universal, um conhecimento transcendental que independe de tempo
e espaço, um conhecimento que paira sobre as contingências históricas, como se
estivesse flutuando e não tivesse nenhuma ligação com os sujeitos-autores que o
produzem. Assim, na produção filosófica e científica moderna ocidental, o sujeito
que fala, o sujeito que teoriza, em suma, o sujeito que produz o conhecimento, as
teorias e os conceitos está sempre oculto, disfarçado, escondido. Trata-se de um
sujeito abstrato, um sujeito não localizado, não situado, um sujeito sem corpo,
sem cultura, sem classe, sem sexo e que, portanto, o seu lócus de enunciação é
abstrato e não está contaminado de marcas terrenas. Logo, o lócus de enunciação
tem a pretensão de ser objetivo, neutro e universal.
Contudo, como nos mostram Lander (2005), Sousa Santos (2006), Grosfoguel
(2010) e Mignolo (2003), a produção do conhecimento não é abstrata, mas sim
contextualizada, localizada, incorporada; ela está situada em histórias locais e arrai-
gada em culturas e cosmovisões particulares, e traz as marcas dos sujeitos-autores
que a produzem, sujeitos estes constituídos a partir de suas experiências e subje-
tividades configuradas socialmente. Desse modo, falamos sempre a partir de um
determinado lugar, de algum lugar de enunciação, ou seja, existe uma profunda
relação entre o que se fala, quem fala e de onde se fala, ou, como argumenta Mig-
nolo (2003), as localizações epistemológicas têm uma estreita relação com o lócus
geopolítico e biopolítico de enunciação a partir do qual o pesquisador constrói o
seu olhar e o seu discurso. E até hoje o perfil epistêmico dominante na produção
do conhecimento ocidental tem uma configuração muito particular e específica:
são homens brancos, heterossexuais de classes privilegiadas de origem europeia
falando em inglês, alemão, francês e italiano. Esse perfil está longe de ser universal!
miolo_geografia_UFF.indd 26 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 27
Mas, apesar de todo o conhecimento ser localizado, a geopolítica do conhe-
cimento estabeleceu historicamente uma relação de centro e periferia em termos
cognitivos, atribuindo o caráter de universalidade a determinados conceitos e
teorias. De maneira direta e concreta, produzir conhecimento em certas línguas,
e a partir de certos lugares, como, por exemplo, produzir em inglês, francês, ale-
mão ou italiano, do centro da Europa hegemônica, torna os pensadores oriun-
dos desses lugares de enunciação pensadores universais, mesmo que estes tenham
construído suas reflexões arraigadas em experiências locais e específicas. Do outro
lado, pensadores que formulam seus discursos, teorias, conceitos em línguas não
hegemônicas, como, por exemplo, espanhol, português e mandarim, suaíli, yo-
rubá, kicongo, kimbundu, falando de continentes e países periféricos, como a
Bolívia, a Colômbia, o Brasil, ou de alguns países africanos ou asiáticos, são vistos
sempre como pensadores locais, e que, portanto, não têm o caráter de universali-
dade vinculado a sua fala, seu lócus de enunciação.
O que define essa geopolítica do conhecimento é o que Walter Mignolo
(2003)denomina de diferença colonial, ou seja, as marcas e heranças de um longo
processo de experiência colonial que moldou o sistema-mundo moderno-colo-
nial, resultando numa relação entre centro e periferia não só em termos econô-
micos e políticos, mas em termos culturais e cognitivos. Essa relação está expressa
na construção dos modelos de universidade e dos sistemas educacionais de uma
forma geral presentes nos países de origem colonial. Essa geopolítica do conheci-
mento está concreta e metaforicamente representada em nossas bibliotecas, que
permanecem como “bibliotecas coloniais”.
Lemos, interpretamos e teorizamos o nosso mundo, as nossas sociedades, nos-
sas experiências, nossos problemas, ancorados em categorias, conceitos, teorias,
línguas do norte global (autores que falam predominantemente em francês, in-
glês, alemão e italiano, que nos falam a partir de Paris, Berlim, Londres, Roma,
Nova York etc.). Olhamos o mundo pelas lentes de autores que construíram suas
reflexões, em muitos casos, referenciados em realidades completamente alheias
à nossa. No entanto ignoramos os intelectuais que falam a partir dos lugares,
experiências e línguas do sul. Não é raro intelectuais brasileiros ignorarem solene-
mente a produção intelectual dos países vizinhos, sem falar do que é produzido
nos continentes africano e asiático. A questão não é a limitação ou ignorância
(uma condição de todos) e sim a naturalidade com que aceitamos o fato de que o
conhecimento legítimo, sofisticado e de vanguarda é atributo somente de certos
miolo_geografia_UFF.indd 27 30/01/17 17:16
28 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
centros geopolíticos do norte global (são inegavelmente centros devido a todos o
recursos e poderes acumulados nesses lugares historicamente). Imaginar que Lima
no Peru ou La Paz na Bolívia ou ainda a cidade do México podem ser centros de
produção intelectual de vanguarda e que o conhecimento produzido nessas rea-
lidades tem profundas afinidades com nossas sociedades parece um absurdo para
um certo imaginário acadêmico eurocêntrico dominante entre nós.
O que os autores do pensamento descolonial sugerem é a necessidade de des-
locamento dos lugares hegemônicos de enunciação (o norte global) para as peri-
ferias, para as margens, para os lugares subalternos de enunciação (o sul global).
Descolonizar o saber, o pensamento, a ciência implica a construção de epistemo-
logias outras que estejam vinculadas às experiências, às dores e aos sofrimentos
dos grupos, lugares que são vítimas do processo colonial. A construção de “episte-
mologias do sul” (SOUSA SANTOS, 2010) “epistemologias fronteiriças” (MIG-
NOLO, 2003) que possam ser referências para a construção de outras bibliote-
cas, “bibliotecas descoloniais”. Isso não significa negar a importância cultural e
intelectual europeia e sim negar o eurocentrismo. Essa postura não é uma postura
relativista ou uma visão essencialista ou fundamentalista, mas sim um exercício
de localização dos diferentes lugares de enunciação em nossa atual geopolítica do
conhecimento. É importante lembrar que essa geopolítica do conhecimento se
reproduz em outras escalas e sustenta um imaginário moderno colonial a exemplo
do que ocorre no Brasil, onde há claramente uma postura de privilégio do Sudeste
como região central de produção intelectual e artística deixando marginalizadas
as produções intelectual e artística em regiões como Nordeste e Amazônia.
IV
Incorporar as contribuições do pensamento descolonial ao pensamento crítico
no campo da geografia brasileira, fazer uma geografia inspirada nas epistemolo-
gias dos sul ainda está por se fazer, apesar de esforços iniciais, dentre os quais o
presente livro, pretende ser uma pequena contribuição. Para que essa incorpora-
ção seja fértil e capaz de ajudar na renovação do pensamento crítico, impõem-se
alguns desafios que se colocam como uma espécie de agenda para os geógra-
fos que desejam construir um projeto de descolonização de nossa disciplina. A
seguir apresentaremos alguns desafios, conscientes de que deve haver outros de
que sequer temos clareza. Esperamos que ao esboçarmos essa espécie de agenda
miolo_geografia_UFF.indd 28 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 29
possamos estimular outros geógrafos a se engajarem nesse projeto coletivo de
construção de uma geografia descolonial.
1) O primeiro desafio é construir um pensamento descolonial enraizado nas es-
pecificidades e singularidades da formação socioespacial brasileira. Hoje gran-
de parte das formulações teórico-conceituais do chamado pensamento desco-
lonial está referenciada na realidade de países andinos (Bolívia, Peru, Equador
etc.) que têm muitas afinidades e proximidades com a realidade brasileira,
mas também importantes diferenças de grau e de natureza. Tais realidades
são muito distintas em termos de geobiodiverdades e sociodiversidades, além
de oriundas de distintos processos de colonização. Esses diferentes projetos
moderno-coloniais resultaram em formações socioespaciais diversas, com
construções de Estado-nação particulares, formações de classes, processos de
hierarquização racial e gênero que constituem padrões de poder, formas de re-
sistências e construção de diferentes sujeitos políticos e lutas descolonais com
muitas expressões e matizes. Diante desse quadro, é fundamental estabelecer
um diálogo entre a tradição do pensamento crítico brasileiro com essa impor-
tante matriz do pensamento descolonial, bem como outras linhagens do pen-
samento critico pós-colonial e dos estudos subalternos vindos do Caribe, da
Índia, da África etc. sem esquecer, contudo, o que temos de específico como
realidade socioespacial. Temos que estabelecer um amplo diálogo produzindo
um verdadeiro “pensamento liminar”, uma “epistemologia fronteiriça” (MIG-
NOLO, 2003) a partir dos diferentes lugares de enunciação que constituem
as “epistemologias do sul” (SOUSA SANTOS, 2010) mantendo as nossas
especificidades históricas e geográficas.
2) Um segundo grande desafio é a construção de um pensamento descolonial que
efetivamente realize um giro espacial/territorial. Hoje há um diálogo marcado
por encontros e desencontros entre o pensamento descolonial e a produção da
geografia crítica. Nessa direção muitos pesquisadores3 vêm incorporando os
debates do pensamento decolonial em suas pesquisas buscando superar o le-
gado eurocêntrico que está pressente de maneira constitutiva em nosso campo
3 No Brasil a contribuição do geógrafo Carlos Walter Porto-Gonçalves é fundamental, tendo um papel de
pioneirismo e vanguarda nesses debates no cenário nacional. Hoje é crescente o número de geógrafos e
geógrafas de gerações mais jovens que vêm dialogando diretamente ou indiretamente com o pensamento
descolonial latino-americano na geografia brasileira.
miolo_geografia_UFF.indd 29 30/01/17 17:16
30 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
disciplinar. Mas precisamos ultrapassar a ideia de que esse debate tem a ver com
certas temáticas, situações e sujeitos específicos. O giro decolonial inaugura no-
vas perspectivas epistemológicas, teóricas, metodológicas com grandes impli-
cações éticas e políticas no pensar e fazer geográfico como um todo. Por outro
lado, as categorias, os conceitos e as noções geográficas têm sido incorporados
pelos(as) autores(as)4 do pensamento descolonial de forma parcial e precária
reduzindo a geograficidade a metáforas espaciais. Categorias e conceitos como
espaço, território, lugar, escala etc. são de grande potencial cognitivo e político
para renovação do pensamento crítico e para ampliação e enriquecimento dos
estudos descoloniais. Contudo seu uso precisa ultrapassar o sentido metafórico
e ganhar consistência teórico-metodológica capaz de considerar a geografici-
dade como um elemento essencial em termos ontológicos e epistemológicos
para compressão de nossas sociedades. É necessário realizarmos um verdadeiro
giro espacial/territorial para que se realize plenamente um giro decolonial. Para
efetivar tal projeto, faz-se necessária a incorporação do patrimônio intelectual
acumulado pela geografia às reflexões do pensamento decolonial. Do mesmo
modo, precisamos extrair todas as consequências epistêmicas, teóricas e meto-
dológicas da incorporação do pensamento decolonial no campo da geografia.
Essa é uma árdua tarefa coletiva que está por se fazer.
3) O terceiro desafio é ultrapassar o debate epistêmico e teórico abstrato e fecun-
dar essas ferramentas teóricas e epistemológicas que o pensamento descolonial
vem produzindo (como, por exemplo, os conceitos de colonialidade do poder,
colonialidade do saber, colonialidade do ser, colonialidade da natureza) com
experiências, casos, situações concretas que permitam superar os excessos de
uma leitura teórica abstrata que essa perspectiva tanto critica. Precisamos de
estudos capazes de oferecer um diagnóstico de nossa realidade, uma ontologia
política descolonial do presente. Estudos que possam ajudar a compreender
quem somos nós e o que estamos fazendo de nós mesmos como sociedade,
construir genealogias de nossa experiência moderna-colonial concretamente.
As teorias, os conceitos e as interpretações do pensamento descolonial pre-
cisam dialogar com a diversidade de experiências de lutas sociais concretas.
Bem como os conhecimentos e as epistemologias construídas nas lutas sociais
4 Os principais autores do pensamento descolonial têm formação disciplinar fora da geografia. São filósofos,
sociólogos, antropólogos, críticos literários etc. Essa diferença de formação disciplinar se expressa na cons-
trução discursiva desses autores, na qual o espaço está presente apenas no sentido metafórico.
miolo_geografia_UFF.indd 30 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 31
concretas podem oferecer novos horizontes de sentidos para a construção de
um pensamento descolonial. Esse vínculo entre teoria e prática é algo impres-
cindível para a construção de uma geografia descolonial.
4) A grande maioria das teorias e dos conceitos construídos pelos pensadores
descoloniais operam com uma leitura macrossociológica e uma perspecti-
va histórica de longa duração tomando como referência a ideia de sistema-
-mundo moderno-colonial como centro de referência interpretativa (países
metropolitanos x colônias, centro x periferia, norte x sul global). Essa leitura
macroescalar e estrutural é importante, contudo, essa escolha metodológica
dificulta a compreensão multiescalar em termos espaçotemporais de práticas
e experiências concretas, nas quais se pode identificar dispositivos da colonia-
lidade do poder, do saber, do ser e da natureza. É fundamental construirmos
uma leitura multiescalar que ao mesmo tempo seja capaz de compreender a
colonialidade do poder, do saber, do ser e da natureza em termos macro e
micropolíticos, tanto em termos de elementos estruturais como através das
práticas e experiências cotidianas. É preciso construir uma leitura histórica e
geográfica que envolva uma multiplicidade de temporalidades e ritmos, capaz
de abarcar a complexidade dos processos concretos.
5) O quinto desafio é pensar a tensão existente entre como construir um pen-
samento descolonial com velhas formas de fazer pesquisa e produzir conheci-
mento. Descolonizar impõe o desafio da invenção, da criação de novas meto-
dologias de investigação, bem como o desafio de trabalhar com novas formas
de linguagens. Não bastam conceitos e teorias descoloniais, precisamos a cons-
trução de metodologias outras que permitam o diálogo entre distintos saberes
e diferentes matrizes de racionalidades. Necessitamos de outras epistemes e
práticas de produção do conhecimento capazes de efetivar um processo de
descolonização da ciência e do pensamento. Não é possível produzir conhe-
cimento descolonial com métodos coloniais. As linguagens acadêmicas e as
tradicionais formas de comunicar as pesquisas não são suficientes para traduzir
as diferentes experiências. Precisamos encontrar metodologias, linguagens e
formas de expressão que possam traduzir as experiências e os saberes de grupos
subalternizados em um registro descolonial.
6) O sexto desafio é a construção de uma estética descolonial. O pensamento
descolonial tensiona o nosso legado epistêmico e o conjunto de teorias e con-
miolo_geografia_UFF.indd 31 30/01/17 17:16
32 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
ceitos com que operamos cotidianamente para interpretar o mundo, contudo,
um giro descolonial não pode se reduzir ao pensamento conceitual, a dimen-
são racional e cognitiva. O giro descolonial com implicações ontológicas ne-
cessita não só de uma nova epistemologia, de uma política e uma nova ética,
necessita também de novas referências estéticas/poéticas. É preciso vermos o
potencial descolonizador que nos chega através da dimensão do sensível, da
arte, e não simplesmente pela via da racionalidade. Os potenciais imagético,
metafórico, narrativo e sonoro são essenciais para construirmos o exercício
cotidiano de descolonização do poder, do saber, do ser e da natureza.
7) A colonialidade do poder, do saber e do ser e da natureza está presente em nos-
so habitus – um conjunto de aprendizados que na maioria das vezes é incorpo-
rado em nossas formas de perceber, representar e agir de forma inconsciente
através das experiências e práticas cotidianas que vivemos em nossos diversos
espaços de socialização como família, igreja, a rua etc. (BOURDIEU, 1989).
Mas, sem dúvida, é na escola e na universidade que somos sistematicamente
submetidos a um processo de colonização dos nossos sentidos de vida. Nes-
sas instituições somos sistematicamente submetidos à produção de um habi-
tus colonial que produz uma subjetivação eurocêntrica (CASTRO-GÓMEZ,
2007). Não é possível pensar um esforço de descolonização que não passe
pela construção de novas práticas de descolonização epistêmica, mas também
pedagógica, que esteja expressa nos currículos, nas metodologias de ensino,
nas avaliações etc. A universidade e a escola precisam se descolonizar, nós pro-
fessores precisamos pensar em pedagogias outras, em pedagogias descolonais.
miolo_geografia_UFF.indd 32 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 33
Referências
BOURDIEU, P. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 1989.
CASTRO-GÓMEZ, S. Ciências sociais, violência epistêmica e o problema da
“invenção do outro”. In: LANDER, E. A colonialidade do saber: eurocentrismo e
ciências sociais latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005a.
______. La poscolonialidad explicada a los niños. Popayán: Universidad del Cauca,
2005b.
______. Michel foucault y la colonialidad del poder. In: Tabula Rasa. Bogotá –
Colômbia, n. 6, 2007.
______. Decolonizar la universidad. La hybris del punto cero y el diálogo de sa-
beres. In: CASTRO-GÓMEZ, S.; GROSFOGUEL, R. (Eds.). El giro decolonial.
Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá:
Iesco-Pensar-Siglo del Hombre Editores, 2007.
______. Prólogo. Giro decolonial, teoría crítica y pensamiento heterárquico. In:
CASTRO-GÓMEZ, S.; GROSFOGUEL, R. (Eds.). El giro decolonial. Reflexio-
nes para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Iesco-
-Pensar-Siglo del Hombre Editores, 2007.
DUSSEL, H. Europa, modernidade, egocentrismo. In: LANDER, E. A coloniali-
dade do saber: eurocentrismo, ciências sociais, perspectivas latino-americanas. Buenos
Aires: CLACSO, 2005.
______. Meditaciones anti-cartesianas: sobre el origen del anti-discurso filosófico
de la modernidad. In: Tabula Rasa. Bogotá – Colômbia, n. 9, 2008.
ESCOBAR, A. La invención del tecer mundo: construcción y desconstrucción del
desarrollo. Bogotá: Norma, 1998.
______. El lugar de la natureza y la natureza del lugar: flobalización o postdesar-
rolo?. In: LANDER, E. La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales,
perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, 2003.
______. Mundos y conocimientos de outro modo: el programa de investigación
de modernidad/colonialidad latinoamericano. In: Tabula Rasa. Bogotá – Colôm-
bia, n. 1, 2003
miolo_geografia_UFF.indd 33 30/01/17 17:16
34 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
GONÇALVES, C. W. P. A territorialidade seringueira. Geographia. Niterói-RJ:
UFF/PGG Ano 1, n. 2 (p. 67-88), 1999.
______. Amazônia, Amazônia. São Paulo: Contexto, 2001.
______. Da geografia às geo-grafias – Um mundo em busca de novas territoriali-
dades. In: SADER, E.; CECENA, A. E. (Orgs.) La guerra infinita – Hegemonía y
terror mundial. Buenos Aires: CLACSO, 2002a.
______. O latifúndio genético e a r-existência indígeno-camponesa. In: Geogra-
phia. Niterói-RJ: UFF/PGG. Ano IV, n. 8, 2002b.
GROSFOGUEL, R. Para descolonizar os estudos de economia política e os es-
tudos pós-coloniais: Transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialida-
de global. In: SOUSA SANTOS, Boaventura; MENESES, Maria Paula (Orgs.).
Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010.
______. Hacia un pluri-versalismo transmoderno decolonial. In: Tabula Rasa.
Bogotá – Colômbia, n. 9, 2008.
LANDER, E. Ciências sociais: saberes coloniais e eurocêntricos. In: LANDER,
E. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais latino-americanas.
Buenos Aires: CLACSO, 2005.
LANDER, Edgard. Marxismo, eurocentrismo e colonialismo. In: BORON, Ati-
lio A.; AMADEO, Javier; GONZALEZ, Sabrina. A teoria marxista hoje. Proble-
mas e perspectivas. Bueno Aires: CLACSO, 2007.
MALDONADO-TORRES, N. La descolonización y el giro des-colonial. Tabula
Rasa. Bogotá – Colômbia, n. 9, 2008.
______. Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un con-
cepto In: CASTRO-GÓMEZ, S.; GROSFOGUEL, R. (Eds.), El giro decolonial.
Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá:
Iesco-Pensar-Siglo del Hombre Editores, 2007.
MASSEY, D. O sentido global do lugar. In: ARANTES, A. (Org.). Espaço da
diferença. Campinas/SP: Papirus, 2000.
______. Filosofia e política da espacialidade: algumas considerações. In: Geogra-
phia. Niterói-RJ: Ano VI, n. 12, 2004.
miolo_geografia_UFF.indd 34 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 35
MIGNOLO, W. Histórias locais / Projetos globais: colonialidade, saberes subalter-
nos e pensamento liminar. Belo Horizonte: UFMG, 2003.
______. Os esplendores e misérias da “ciência”: colonialidade, geopolítica do co-
nhecimento e pluriversalidade epistêmica. In: ______. Conhecimento prudente
para uma nova vida decente: um discurso sobre as ciências revistado. São Paulo:
Cortês, 2004.
______. Espacios geográficos y localizaciones epistemológicas: la ratio entre la
localización geográfica y la subalternización de conocimientos. In: Geographia.
Rio de Janeiro, n. 13. Setembro de 2005.
PORTO-GONÇALVES, C. W. Geografando nos varadouros do mundo. Brasília:
IBAMA, 2004a.
______. Apresentação da edição em português. In: LANDER, E. A colonialidade
do saber: eurocentrismo e ciências sociais latino-americanas. Buenos Aires: CLA-
CSO, 2005a.
QUIJANO, A. A colonialidade de poder, eurocentrismo e América Latina. In:
LANDER, E. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais latino-a-
mericanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005.
______. A colonialidade do poder e classificação social. In: SOUSA SANTOS,
B.; MENESES, M. P. (Orgs.). Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010.
SOUSA SANTOS, B. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da expe-
riência. São Paulo: Cortez, 2002.
______. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural.
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
______. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. In:
Conhecimento prudente para uma nova vida decente: um discurso sobre as ciências
revistado. São Paulo: Cortez, 2004.
______. Gramática do tempo: por uma nova cultura política. São Paulo: Cortez,
2006
WALSH, C. Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgen-
cias político-epistémicas de refundar el Estado. In: Tabula Rasa. Bogotá – Colôm-
bia, n. 9, 2008.
miolo_geografia_UFF.indd 35 30/01/17 17:16
36 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
______. ¿Son posibles unas ciencias sociales/culturales otras? Reflexiones en tor-
no a las epistemologías decoloniales. In: Nomadas, n. 26, 2007.
______. (Re)pensamiento crítico y (de)colonialidad. In: WALSH, C. (Ed.). Pen-
samiento crítico y matriz (de)colonial. Reflexiones latinoamericanas. Quito: Univer-
sidad Andina Simón Bolívar-Abya-Yala, 2005.
ZIBECHI, R. Autonomías y emancipaciones: América Latina en movimiento.
Lima: Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales, 2007.
miolo_geografia_UFF.indd 36 30/01/17 17:16
De saberes e de territórios – diversidade e eman-
cipação a partir da experiência latino-americana
Carlos Walter Porto-Gonçalves
“Nossa luta é epistêmica e política.”
Catherine Walsh/Luis Macas
“A importância da linguagem para o desenvolvimento da cultura está em que
nela o homem estabeleceu um mundo próprio ao lado do outro, um lugar que ele
considerou firme o bastante para, a partir dele, tirar dos eixos o mundo restante e
se tornar seu senhor. Na medida em que por muito tempo acreditou nos concei-
tos e nomes de coisas como um aeternea veritates (verdades eternas), o homem
adquiriu esse orgulho com que se ergueu acima do animal: pensou ter realmente
na linguagem o conhecimento do mundo.”
Nietzsche
“Limite entre saberes, limite entre disciplinas, limite entre países. Por todo lado se
fala que os limites já não são rígidos, que os entes já não são tão “claros, distintos
e definidos” como recomendara René Descartes. Cada vez mais se fala de empresas
internacionais, ou transnacionais ou multinacionais, assim como se fala de inter-
disciplinaridade, transdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. Enfim, por todo
lado são usados os prefixos inter, trans ou multi indicando que as fronteiras, sejam
elas epistêmicas, sociológicas ou geográfico-políticas, se é que podemos separá-las,
são mais porosas do que se acreditava.”
Carlos Walter Porto-Gonçalves
miolo_geografia_UFF.indd 37 30/01/17 17:16
38 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Desprovincianizando a razão – elementos para a crítica do eurocentrismo5
Problematizar a relação entre saberes e territórios é, antes de tudo, pôr em
questão a ideia eurocêntrica de conhecimento universal. Com isso não queremos
recusar a ideia de que o conhecimento seja universal, mas, sim, (1) retirar o caráter
unidirecional que os europeus impuseram a essa ideia (eurocentrismo) e (2) afir-
mar que as diferentes matrizes de racionalidade constituídas a partir de diferentes
lugares, os topoi de Boaventura de Sousa Santos, são passíveis de serem universali-
zados, o que nos obriga a considerar os processos por meio dos quais os conheci-
mentos podem dialogar, se relacionar. Enfim, o que se visa é um diálogo de saberes
que supere a colonialidade do saber e do poder (QUIJANO, 2005 [2000]).
O que se critica aqui não é a ideia de pensamento universal, mas, sim, a ideia
de que há Um e somente Um pensamento universal, aquele produzido a partir de
uma província específica do mundo, a Europa e, sobretudo a partir da segunda
metade do século XVIII, aquele conhecimento produzido a partir de uma subpro-
víncia específica da Europa, a Europa de fala inglesa, francesa e alemã, enfim, a
segunda moderno-colonialidade, que teima em olvidar o conhecimento produzido
na primeira moderno-colonialidade, aquela de fala espanhola ou portuguesa.
Com essa desprovincianização da Europa da ideia de pensamento universal
o que visamos é o deslocamento do lugar de enunciação e, assim, proporcionar
que outros mundos de vida ganhem o mundo, mundializando o mundo. In-
sistimos que não se trata de negar o pensamento europeu, o que seria repeti-lo
com sinal invertido, mas sim nos propomos dialogar com ele sabendo que é
europeu e, portanto, um lugar de enunciação específico, ainda que sabendo (1)
que essa especificidade não é igual a outros lugares de enunciação pelo lugar que
ocupa na contraditória estrutura do sistema-mundo moderno-colonial, (2) nem
tampouco que esse lugar de enunciação europeu seja homogêneo e não abrigue
perspectivas contraditórias, sejam de afirmação da ordem, sejam de perspectivas
emancipatórias. O liberalismo e o marxismo, ambos nascidos na Europa, não
são a mesma coisa, muito embora de diferentes maneiras se vejam a braços com
a colonialidade, essa dimensão não revelada pelas duas moderno-colonialidades.
Enfim, o lugar de enunciação não é uma metáfora que possa ignorar a mate-
5 Neste artigo dou continuidade às reflexões que venho propondo e coletivamente elaborando junto ao Gru-
po de Trabalho Hegemonias e Emancipações de CLACSO, desde 2001. Já em 2001 iniciava Da geografia às
geo-grafias: um mundo em busca de novas territorialidades, uma reflexão sobre epistemes e territórios afirmando
a epígrafe acima.
miolo_geografia_UFF.indd 38 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 39
rialidade dos lugares, enfim, a geograficidade do social e do político (PORTO-
-GONÇALVES, 2003).
O espaço: onde habita a simultaneidade
Para promover essa desprovincianização e o reconhecimento de novos lugares
de enunciação, é preciso trazer o espaço para dentro da história e deixá-lo fa-
lar. A visão unilinear do tempo silencia outras temporalidades que conformam o
mundo simultaneamente. Sucessão e simultaneidade, sucessões simultâneas, eis
o espaço-tempo. O mundo não tem um relógio único. Nesse sentido, também o
materialismo histórico deve ser geografizado – materialismo histórico-geográfico
(SOJA, 1993) – o que significa abandonar uma visão linear do tempo, que certas
correntes marxistas partilham com os liberais e que não é um tempo abstrato, mas
o tempo europeu, branco, burguês e fálico da segunda moderno-colonialidade
(DUSSEL, 2005 [2000]), e se abrir para as múltiplas temporalidades que con-
formam os lugares, as regiões, os países, enfim, os territórios que as conformam.
Se o espaço é apropriado, marcado, grafado (geografado) no processo histórico,
tendo, assim, uma historicidade, esse fato nos impõe a necessidade de levar a sério
essa geograficidade da história, inclusive no campo das ideias, do conhecimento.
Assim, a cartografia da Terra foi grafada pelo papa, em 1493, com um meri-
diano, o de Tordesilhas e, desde o século XIX, a ciência laica se encarregaria de
remarcar um novo ponto zero de onde passa a recartografar o mundo, agora a
partir do meridiano de um subúrbio de Londres, Greenwich. Não olvidemos que
se orientar é se dirigir para o Oriente, e tomar esse rumo era tomar o rumo certo
na vida, tal como hoje se diz nortear. Essa troca de verbo é, também, uma troca
de hegemonia geopolítica.
Embora a segunda moderno-colonialidade, aquela do Iluminismo, procure
ignorar a verdadeira revolução no conhecimento da primeira moderno-colonia-
lidade, é preciso assinalar que a missão ibérica, ao mesmo tempo em que estava
consagrada pelo Deus cristão, se ancorava na melhor ciência matemática, car-
tográfica, náutica em suas grandes navegações. “Navegar é preciso, viver não é
preciso6” (Fernando Pessoa), enfim, navegar é coisa do campo da técnica, da pre-
cisão, e os portugueses foram grandes navegadores, sobretudo. Não é incompatí-
vel a missão salvacionista e evangelizadora com um saber rigoroso, técnico como,
6 Viver não tem precisão técnica.
miolo_geografia_UFF.indd 39 30/01/17 17:16
40 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
mais tarde, na segunda moderno-colonialidade, se tentará fazer crer. A primeira
máquina verdadeiramente moderna, o relógio, surgiu nos monastérios da Idade
Média exatamente para controlar o tempo das orações de modo objetivo (MUM-
FORD, 1942; PORTO-GONÇALVES, 1989). Na verdade, a ciência da segunda
moderno-colonialidade está impregnada de um sentido religioso de emancipação.
Não nos cansamos de ouvir, ainda hoje, que a ciência opera milagres.
A América experimentará essa razão moderno-colonizadora de um modo
muito próprio. Angel Rama, o ensaísta uruguaio, nos chamou a atenção em seu
A cidade das letras que as primeiras cidades verdadeiramente planejadas racio-
nalmente no mundo moderno-colonial surgiram na América, onde o espaço da
plaza foi concebido sob o signo do controle, da dominação. Já, ali, havia despla-
zados. As primeiras manufaturas moderno-colonizadoras se montaram em Cuba,
no Haiti, no Brasil, haja vista o açúcar não ser exportado para a Europa in natura,
mas, sim, manufaturado. A própria monocultura, enquanto técnica, inicialmente
para o cultivo da cana, era uma imposição, haja vista a impossibilidade material
de um povo ou uma comunidade qualquer se reproduzir fazendo monocultura
para si próprio. Assim, a monocultura não é só a cultura de um só produto, mas
também a cultura para um só lado. Por isso a energia da chibata para mover o
sistema. Afinal, ninguém faz monocultura espontaneamente até que tenhamos
subjetivado as relações sociais e de poder assimétricas e contraditórias (a mão
invisível é precedida de outra mão bem visível que brandia a chibata).
Eis as vantagens de falarmos a partir desse outro lugar de enunciação que é a
América, particularmente, desde a América Latina e desde uma perspectiva eman-
cipatória nesse momento histórico em que velhos protagonistas, como os indígenas
e os afrodescendentes, entram em cena reinventando-se agora com mais visibilida-
de. A América tem, desde 1492, um papel protagônico na constituição do siste-
ma-mundo moderno-colonial (LANDER, 2005 [2000]). É claro que durante um
bom tempo não passamos de Índias Ocidentais, nome com que os espanhóis indi-
cavam seu império desde a Ilha de São Domingos até as Filipinas, numa geografia
estranha para o que, hoje, fomos e estamos habituados. A América será um nome
que se consagrará, como nos ensina Walter Mignolo, com a emergência da descolo-
nização, fenômeno que, para nós, desde a América, se inicia em 1776 (EUA), ainda
que revelando a colonialidade do saber e do poder, como nos denuncia o incômodo
1804 (Haiti). Aliás, o Haiti é a melhor revelação de como a liberdade não pode ser
pensada ignorando-se a geografia em que está inserida. Toussaint de Louverture
miolo_geografia_UFF.indd 40 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 41
(1743-1803) bem que tentou ser livre nos marcos de uma confederação francesa
que, ainda que revolucionária, não via a liberdade se tornar igual para todos e,
assim, demonstrava os limites da fraternidade, pois estes princípios não atravessa-
vam o Atlântico e não chegavam à Ilha de São Domingos. Foi preciso outro Jean
Jacques, J-J. Dessalines (1758-1806), para proclamar a independência do Haiti e,
assim, expressar a vontade geral dos negros haitianos de promover a dupla eman-
cipação tanto da metrópole como dos senhores locais que teimavam em manter a
colonialidade. A América ainda hoje abriga essa contradição constitutiva.
Cuba e Porto Rico, que permaneceram sob o domínio espanhol até o final
do século XIX, experimentarão o mesmo peso do, então, novo império estadu-
nidense, o mesmo peso que já havia sentido o México quando teve anexados,
entre 1845 e 1848, seus amplos territórios do Texas à Califórnia. A fragmentação
territorial da América Central expressa essa tensão emancipatória e de domina-
ção, haja vista o caráter geoestratégico dessa região. Simon Bolívar (1783-1830)
já o pressentira quando convocara, em 1826, exatamente para o Panamá, uma
primeira reunião entre estados que acreditava irmãos, e o fazia em contraponto
à Doutrina Monroe (1823), que buscava uma integração sob hegemonia estadu-
nidense. A Colômbia sentiu o peso dessas ações imperiais com a amputação do
Panamá, em 1903. Alguns poucos anos antes, José Martí (1853-1895) percebera
essa clivagem consagrando-a com a expressão Nuestra América para se distinguir
da outra América, hegemônica. Não olvidemos, pois, que mesmo em Nuestra
América os novos estados independentes se fizeram sob a inspiração das Luzes e,
assim, o eurocentrismo se faz presente seja pela via da “América para os ameri-
canos” (do Norte), com a Doutrina Monroe, seja com a Alca ou com os TLCs;
enfim, pela colonialidade do saber e do poder. Os povos originários, os afro-a-
mericanos e mestiços continuaram submetidos à servidão e à escravização mesmo
após a independência. Assim, a colonialidade do saber e do poder sobreviveu ao
fim do colonialismo (QUIJANO, 2005).
Para quem pensa o mundo numa perspectiva emancipatória e a partir da Amé-
rica, sobretudo da América negra, indígena e mestiça e dos segmentos excluídos da
riqueza que produz sob relações de dominação/opressão e produção/exploração, é
fundamental compreender esse caráter colonial-moderno do sistema-mundo que
conformou um complexo de classes sociais embebido na racialidade (QUIJANO,
2005), para que possamos apontar outros horizontes neste mundo em transfor-
mação em que estamos mergulhados. E não é de América Latina, simplesmente,
miolo_geografia_UFF.indd 41 30/01/17 17:16
42 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
que estamos falando, posto que os negros e os índios us-americanos sabem o lugar
que ocupam na geografia do poder, como o furacão Katrina recentemente nos re-
velou em Nova Orleãs e na Luisiânia7. Afinal, a América é moderna há 500 anos.
Aqui se inventou a Revolução (1776) antes dos franceses e iniciou-se a descoloni-
zação ainda que permanecendo prisioneiro do pensamento colonial. Outros pro-
tagonistas deixaram marcas nessa história, como Tupac Amaru II (1738-1781),
Tupac Katari (1750-1781), Toussaint de Louverture e Jean-Jacques Dessaline,
entre outros. Hoje nos encontramos em plena descolonização do pensamento
e, por isso, olhamos o mundo dialogando com o pensamento subalterno, que
vem sendo construído nesses 500 anos, como nos alertam os zapatistas Rigoberta
Menchu (1959-), Evo Morales (1959-).
***
É no período neoliberal do sistema-mundo moderno-colonial que a relação
entre saberes e territórios vem ganhando um sentido mais intenso. Desde o final
da Segunda Guerra Mundial que a centralidade do pensamento europeu vem
perdendo terreno junto com a descolonização da África e da Ásia e o surgimento
de dezenas de novos estados nacionais num contexto marcado pela guerra fria,
mas é a partir dos quentes anos sessenta que o direito à diferença ganha maior
visibilidade. Desde então, e como resposta conservadora às “barricadas do dese-
jo”, às “greves selvagens” e mesmo à ideia de que o Estado é um instrumento de
redistribuição de riqueza, que o neoliberalismo começa a combater sistematica-
mente, sobretudo depois do sangrento golpe de 11 de setembro de 1973, quando
inaugura esse novo período em que o papel do Estado vai sendo deslocado no sen-
tido do capital. As vitórias de Margareth Thatcher (1925-2013) e Ronald Reagan
(1911-2004) em finais dos anos 70 e inícios dos 80 deram maior consistência ao
que mais tarde será chamado neoliberalismo. Não olvidemos, pois, que a primeira
experiência de um conjunto de políticas sistemáticas de corte neoliberal se fez em
Nuestra América, no Chile, em 1976, sob a ditadura sanguinária do general Pino-
chet (1915-2006). No final dos anos 80, a queda do muro abriria definitivamente
espaço para outras reconfigurações epistêmicas e territoriais.
7 A Venezuela parece estar percebendo que Nuestra América tem uma geografia que vai além do rio Grande,
quando se dispõe a vender combustível (gasoil) mais barato em alguns bairros pobres de algumas cidades
us-americanas, como vimos logo após o furacão Katrina em 2005.
miolo_geografia_UFF.indd 42 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 43
Portugal e Espanha haviam inaugurado, ainda no final da Idade Média, a ideia
moderno-colonial de estado territorial soberano que, mais tarde, em 1648, seria
consagrada em Vestfália. Diga-se, de passagem, que a presença moura na penín-
sula ibérica não impediu a convivência de judeus, cristãos e islâmicos. A “limpeza
religiosa” dos territórios de Portugal e Espanha nos dá conta da intolerância que
esteve subjacente à constituição desses primeiros estados territoriais e, de certa
forma, se fará presente enquanto colonialidade do saber e do poder na confor-
mação dos mais diferentes estados territoriais, como destacaria Pablo Gonzalez
Casanova com sua teoria do colonialismo interno. Lembremos que Santiago, o
do caminho de Compostela, é conhecido como mata-mouros. A ideia de uma
mesma língua nacional, de um mesmo sistema de pesos e medidas, e de uma
mesma religião oficial dá conta do projeto de homogeneização em curso na cons-
tituição do estado territorial moderno, que, assim, se mostra também colonial
em suas fronteiras internas. O colonialismo não foi simplesmente uma configu-
ração geopolítica por meio da qual o mundo se mundializou. Mas do que isso, o
colonialismo constituiu os estados territoriais moderno-coloniais em todo lugar,
inclusive, na Europa. A colonialidade é constitutiva das relações sociais e de poder
do sistema mundo nas suas mais diferentes escalas.
Como vêm demonstrando vários autores (Haesbaert, Sack, Raffestin, Lopes
de Souza, Lefebvre, Coronil, Soja, Porto-Gonçalves, 2001, entre outros), o terri-
tório não é algo anterior ou exterior à sociedade. Território é espaço apropriado,
espaço feito coisa própria, enfim, o território é instituído por sujeitos e grupos
sociais que se afirmam por meio dele. Assim, há, sempre, território e territoria-
lidade por meio de processos sociais de territorialização. Num mesmo território
há, sempre, múltiplas territorialidades. Todavia, o território tende a naturalizar
as relações sociais e de poder, pois se torna abrigo, lugar onde cada qual se sente
em casa, mesmo que numa sociedade dividida. Na formulação de Heidegger: “a
historicidade de toda humanidade reside em ser enraizado (Heimliche), e ser en-
raizado (Heimliche), é sentir-se em casa (Heimliche) ao ser desenraizado (Unhei-
mliche)” (HEIDEGGER por CARVALHO, 1999).
O questionamento das fronteiras que hoje se vê é, assim, o melhor indício de
que as relações sociais e de poder estão sendo desnaturalizadas. O questionamento
da conformação geográfica de poder do estado territorial vem sendo feito por cima e
por baixo no período neoliberal atual do sistema-mundo moderno-colonial. Como
já indiquei em outro lugar, “abaixo as fronteiras” era um brado tanto dos libertários
miolo_geografia_UFF.indd 43 30/01/17 17:16
44 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
em 1968, e também slogan de gerente de multinacional nos anos setenta (PORTO-
-GONÇALVES, 2001). Assim, diferentes territorialidades e os diferentes sujeitos
que as portam e agenciam estão reconfigurando os lugares, o espaço. A tensão que
hoje vivemos é a melhor expressão de que a conformação territorial hegemônica já
não consegue mais oferecer abrigo. Gramsci falaria de crise de hegemonia.
Com a própria crise das esquerdas, em parte pela nova configuração do espa-
ço sob hegemonia do capital, em que a fábrica deixa de ser o lócus privilegiado
da acumulação com a flexibilização locacional e laboral, em parte pela perda da
centralidade política dos partidos e dos sindicatos, e ainda em parte pelo Estado
estar sendo, cada vez mais, capturado pelos interesses do capital, vemos surgir por
todo o lado outros protagonistas nas lutas sociais. Nesse sentido, os Miskitos e a
Revolução Sandinista são marcos importantes, sobretudo para a América Latina.
Os seringueiros, camponeses da floresta amazônica afirmaram que não queriam
terra, mas sim território e, assim, indicaram que num mesmo território do Estado
existem múltiplas territorialidades e não só camponesas, como o indica o fato de
terem constituído a Aliança dos Povos da Floresta junto com os povos indígenas.
O grande levante equatoriano e a Marcha pela Vida, pela Dignidade e pelo Terri-
tório na Bolívia, em 1990, e o zapatismo, em 1994, darão visibilidade definitiva
a esses outros (velhos/atuais) protagonistas. Sublinhemos o significado do fato
de se verem outros protagonistas emergindo à cena política, como os campone-
ses, os povos/etnias/nacionalidades indígenas e quilombolas. Não estamos aqui
diante de um conceito qualquer: protagonista deriva do grego protos, primeiro,
principal, e agonistes, lutador, competidor (CUNHA, 1992: 641). Estamos, as-
sim, diante daquele que luta para ser o primeiro, o principal num sentido muito
preciso daquele que luta para ser o princípio, que é de onde vem príncipe, isto é,
aquele que principia a ação8. Numa sociedade democrática o príncipe deixa de ser
escrito com letra maiúscula, como o fez Maquiavel, pois é quando a igualdade se
inscreve como condição de cada um poder tomar a iniciativa, o que pressupõe a
conversa, isto é, o diálogo, a versão diferente que, só tem sentido verdadeiro, in-
sisto, na igualdade. Como afirmara Hanna Arendt (ARENDT, 1987), a iniciativa
da ação é o cerne da política.
A globalização que muitos acreditavam socioculturalmente homogeneizadora se
mostrará, ao contrário, estimuladora “da coesão étnica, da luta pelas identidades e
das demandas de respeito às particularidades. A universalização, hoje, não é equiva-
8 Machiavel soube vê-lo. Daí O Príncipe.
miolo_geografia_UFF.indd 44 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 45
lente de uniformidade identitária, mas de pluralidade” (DÍAZ-POLANCO, 2004).
E, mais que multiculturalismo, como certa narrativa pós-moderna quer sugerir, é a
interculturalidade que vem sendo sugerida “desde abajo” quando os grupos/classes
sociais em situação de subalternização reivindicam a ruptura das relações de domi-
nação/exploração que acompanham o sistema-mundo capitalista moderno-colonial
e que impedem o verdadeiro diálogo entre as culturas/os povos (WALSH, 2002a).
Até porque a cultura não é algo abstrato, mas implica o comer (agri+cultura), o
habitar, respirar, o curar-se (as medicinas), enfim, o espaço concreto (com significa-
do9) da vida: o território (indissociável da tensão que o constitui. Afinal, é preciso
considerar sempre a tríade território-territorialidade-territorialização).
A experiência da Revolução Sandinista e o conflito envolvendo os Miskitos são
marcos para entendermos o novo padrão de conflitividade que, desde então, passará
cada vez mais a ganhar contornos mais claros. Ali, na revolução sandinista (1979),
todas as contradições do que significa construir a nação mantendo a colonialidade
do saber com a perspectiva eurocêntrica se fará sentir também num regime político
de esquerda. A mesma negação do outro já havia sido também experimentada pelos
povos originários da Bolívia, na revolução 1952, revolução que não convalidou as
formas comunitárias de apropriação da terra e dos recursos naturais – os ayllus –,
apesar do papel protagônico desempenhado pelos sindicatos e partidos políticos
de esquerda. Ao contrário, estimulou a propriedade privada com a distribuição de
terras numa reforma agrária10 com uma leitura restrita do que seja o campesinato.
Acreditava-se à época, à direita e à esquerda, que a diferença étnico-racial era uma
condição passageira a ser diluída no todo nacional ou, quando muito, a ser um fe-
nômeno residual a ser exibido em museu folclórico. Na revolução sandinista o com-
ponente geopolítico do imperialismo operou abertamente estimulando os “con-
9 Logo, com signo. Não há apropriação material de algo sem sentido. Toda apropriação material é simbólica.
O território é onde a cultura se materializa e, ao mesmo tempo, onde a natureza é significada (territoria-
lidade). Como o signo nunca pode conter seu referente “objetivo” é sempre possível dizer de outro modo
o mundo. A palavra pedra nunca será sólida, assim como a palavra água nunca matará a sede de ninguém.
Todavia, os homens e as mulheres só vivem através dos símbolos, dos signos, das representações que nunca
poderão conter o mundo que representam, simbolizam, significam. Nenhum livro, seja sagrado ou cientí-
fico, terá o contexto no texto, razão de tantos dogmatismos. Como diria Pierre Bourdieu, é da natureza da
realidade social a luta permanente para dizer o que é a realidade social.
10 Que toma o campesinato por sua propriedade familiar da terra e dos meios de produção, esquecendo que
o campesinato historicamente se conforma com práticas comunitárias e de uso comum da terra, como se
pode ver, na Europa, com a derrota que lhe foi imposta com a privatização das suas terras comuns (enclou-
sers), ou na Rússia, com a obschina.
miolo_geografia_UFF.indd 45 30/01/17 17:16
46 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
tras”, assim como qualquer contradição que desgastasse a revolução, como tentou
fazer com os Miskitos do Caribe. Todavia, a história dos Miskitos se inscrevia em
demandas próprias e, talvez, a melhor herança do sandinismo e dos Miskitos seja
exatamente a legislação que reconhece a autonomia indígena, como afirma Héc-
tor Díaz-Polanco, intelectual mexicano que trabalhara com os Miskitos que soube
compreender o caráter imperialista do apoio dos Estados Unidos, recusando-o.
Não devemos ignorar a importância dos movimentos dos guetos negros das ci-
dades us-americanas desde os Black Panters e Rappers (hip-hop) até as rebeliões dos
anos 80 e inícios dos 90 (“griot”). A trajetória do hip-hop é, nesse sentido, interes-
sante, posto que uma expressão estético-cultural nascida no Caribe se mundializa
a partir dos guetos urbanos negros das maiores cidades dos EUA11. A globalização
se complexifica com o estabelecimento de secretas relações que atualizam pro-
cessos históricos subjacentes ao sistema-mundo moderno-colonial, sobretudo a
racialidade (QUIJANO, 2005). Em quase todas as cidades latino-americanas o
hip-hop ensejará uma reinvenção da problemática racial com contornos distintos
do modo como até então se apresentava, sobretudo entre jovens pobres “quase
todos pretos” (Caetano Veloso), mestiços e indígenas. A cultura se politiza.
Desde então, nas mais diferentes reformas constitucionais na América Latina
(Nicarágua, Colômbia, Brasil, Equador, Venezuela, Peru, Chile), pela primeira
vez se reconhece e se declara o direito à diferença aos negros e aos povos ori-
ginários, fenômeno que passará a ser conhecido seja como constitucionalismo
multicultural (VAN COTT, 2000), seja como plurinacionalidade, seja como plu-
ralismo jurídico12 (WALSH, 2002a).
A reconfiguração do estado territorial nacional tradicional, ao mesmo tempo
em que reconhece diferentes territorialidades em suas fronteiras internas, está
imerso naquilo que Jairo Estrada muito apropriadamente chamou constituciona-
lismo supranacional (ESTRADA, 2006 e PORTO-GONÇALVES, 2006, onde
ganham curso as determinações emanadas das organizações multilaterais, sobre-
tudo do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional e da Organização
Mundial do Comércio. O Caracazzo, a queda de Alfonsin e a invasão do Panamá
11 A poetisa María Hernandez, filha de porto-riquenhos nascida em Nova York, dirá “eu não nasci em Porto
Rico. O Porto Rico nasceu em mim”.
12 O pluralismo jurídico pressupõe a existência de múltiplas fontes para o direito e não só o Direito Romano.
Pelo menos três dimensões desses direitos podem ser identificadas: 1- direito ao autogoverno (autonomias);
2- direito especial de representação (Colômbia, p. e.); e 3- direitos poliétnicos (educação em sua própria
língua etc.).
miolo_geografia_UFF.indd 46 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 47
pelos EUA, fatos ocorridos no mesmo ano da queda do muro de Berlim, em
1989, nos dão conta das profundas contradições que atravessam a reconfigura-
ção territorial e seus distintos protagonistas. Já em 1990, o levante indígena no
Equador e na Bolívia dá conta da emergência de novos protagonismos. Em 1994,
é o zapatismo que enfrenta a nova configuração territorial neoliberal do mesmo
sistema-mundo moderno-colonial e apresenta nas ruas e na internet os 500 anos
de olvido. Desde então, segundo Atílio Borón, já são 16 os governos democrati-
camente eleitos derrubados por manifestações de rua na América Latina.
É neste contexto que se apresentam os desafios à emancipação para os variados
protagonistas que partem da diferença e põem em debate a questão da diversidade
e da igualdade.
Para além do essencialismo (sem abrir mão da diferença)
Eis que somos remetidos novamente para o debate teórico-político. Como
vislumbramos acima, as lutas emancipatórias que advêm da diversidade se de-
frontam não só contra aqueles que abertamente se colocam contra o direito à
diferença, como os liberais deontológicos e uma certa tradição marxista, quase
sempre integracionistas e assimilacionistas, mas também com um certo tipo de
multiculturalismo e pluriculturalismo que abre espaço para várias formas de es-
sencialismo: os territorialistas (regionalismo, nacionalismo, bairrismo, localismo),
etnicismos e racismos. Não devemos menosprezar, pelas nefastas consequências
que têm trazido, todas essas modalidades de fundamentalismo. A diferença é tão
sutil como radical – todo movimento de afirmação do direito à diferença parte
da diversidade cultural como um atributo da espécie humana e, aqui, é preciso
ressaltar o caráter cultural dessa diversidade, como invenção de cada povo, para
recusar o essencialismo racista. Uma perspectiva emancipatória não pode ver a sua
fonte, a diferença, como essência já dada desde sempre e para sempre, mas, sim,
como estratégia cognitiva e política de afirmação e construção. Tudo indica que é
por um pós-tradicionalismo por onde parece caminhar a revolução indígena em
curso. Afinal, mais do que um pós-modernismo celebratório (Boaventura de Sousa
Santos), é de um reconhecimento não só da diferença, mas das relações sociais e de
poder que as instrumentaliza, o que esses movimentos trazem ao debate. Afinal, o
pós-modernismo ignora essa dimensão colonial das relações de poder.
Segundo Catherine Walsh, “a multi ou pluriculturalidade simplesmente parte
da pluralidade étnico-cultural da sociedade e do direito à diferença”, sendo cada
miolo_geografia_UFF.indd 47 30/01/17 17:16
48 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
cultura mais uma que se soma ao mesmo sistema de relações sociais e de poder.
Enfim, o pluri e o multiculturalismo reconhecem a diferença e a congelam e/ou
guetificam. Sabemos como o racismo na África do Sul territorializou as diferen-
ças nos bantustões estimulando a diversidade cultural. Estaríamos, aqui, diante
daquilo que Díaz-Polanco chamou de liberalismo comunitarista que, dialogando
com os novos protagonistas de nosso tempo, vem recusando o individualismo
fóbico que tanto caracteriza o velho liberalismo13. Talvez o caso colombiano com
sua proposta de democracia comunitária seja o que mais venha avançando na
direção dessa nova vertente liberal, conforme vem alertando o antropólogo Jaime
Caycedo e o mexicano Díaz-Polanco. Nesse caso, temos o contrário do que apon-
taria uma perspectiva emancipatória, posto que se trata de buscar não só “outras
relações entre grupos, como também entre práticas, lógicas e conhecimentos dis-
tintos, com o afã de confrontar e transformar as relações de poder (incluindo
as estruturas e instituições da sociedade) que naturalizam as assimetrias sociais”
(WALSH, 2002a), enfim, no sentido da interculturalidade e ao que Díaz-Polanco
chama de El Canon Snorri14 (DÍAZ-POLANCO, 2004).
Tudo indica que a afirmação da diversidade e o legítimo direito à diferença
devam mergulhar na compreensão dos complexos mecanismos por meio dos
quais a opressão, a injustiça e a exploração buscam se legitimar, o que significa
compreender as relações entre as dimensões cultural, social, econômica e política
e buscar novas epistemes entre os protagonistas que estão impulsionando pro-
cessos instituintes de novas configurações territoriais. Afinal, não é isoladamente
que cada grupo subalternizado é mantido nessa condição. É o isolamento de
cada qual que é condição do isolamento de cada um. Os limites do localismo se
mostram, aqui, evidentes, com a compreensão que não se pode prescindir do lu-
gar e da diversidade. O divide et impera romano aí está a nos desafiar na busca da
afirmação da diferença onde cada qual se reinvente reinventando o conjunto das
relações que faz de cada qual ser o que é nesse sistema-mundo moderno-colonial
marcado pela injustiça, opressão, insegurança e devastação.
13 Díaz-Polanco (2004) destaca o rico debate que vem sendo travado no interior do campo liberal para o que
nos convida a prestar mais atenção, já que não estaríamos diante do mesmo e velho liberalismo. De um
lado seria a aceitação da diferença cultural, portanto, de algo que não é mais o indivíduo, mas que seria
confinada à ordem liberal. Convicção ou pragmatismo?
14 El Canon Snorri é “a virtude da tolerância e a aptidão para reconhecer valores alheios” (DÍAZ-POLANCO,
2004: 231).
miolo_geografia_UFF.indd 48 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 49
O lugar de possíveis epistemes emancipatórias
Aníbal Quijano nos mostrou as profundas ligações do que chamou a colo-
nialidade do poder. Edgardo Lander (2006) nos fala de colonialidade do saber e,
assim, nos ajuda a ver que a produção de conhecimento que parte da relação su-
jeito-objeto é, segundo ele, a mesma que funda a relação do proprietário privado
com seu objeto. Assim, mais do que uma episteme há uma relação de poder que
diz respeito ao modo como concretamente sobre o terreno se funda a proprieda-
de privada dos bens e as relações de homens e mulheres entre si. A episteme que
funda a modernidade com René Descartes (1596-1650) é solipsista ao crer no
“Eu penso, logo eu existo”, onde o pensamento é conformado pelo Eu, como se
alguém pudesse pensar fora de uma língua que, por sua natureza, é sempre social.
O conhecimento seria, nessa episteme, produzido na relação sujeito-objeto e não
numa relação intersubjetiva (MIGNOLO, 2003: 231). Já, aqui, se indica outra
episteme que, para ser outra, o outro há que ser outro na sua outridade (LEFF,
2006). A natureza, esse outro absoluto (LEFF, 2006), tem sido apropriada por
uma razão matemática que, assim, a nega na sua materialidade. No terreno nada
abstrato da physis o aquecimento global é a manifestação da combinação da lógica
abstrata matemática que nega a natureza e se faz acumulação monetária – lucro.
Aqui nessa tensão epistêmico-política novas territorialidades estão sendo engen-
dradas, conforme Arturo Escobar e Líbia Grueso nos mostraram para os afrodes-
cendentes do Pacífico Sul da Colômbia e Porto-Gonçalves para os seringueiros da
Amazônia brasileira. A natureza é politizada.
Walter Mignolo nos adverte de que é a partir das diferenças que novas episte-
mologias estão emergindo (MIGNOLO, [2000], 2003: 235-242). As diferenças
só se manifestam na relação, no contato, daí o seu caráter contingente geográfico e
social. São epistemologias que emergem no contato de epistemes distintas. Vários
autores vêm assinalando esse caráter relacional não essencialista, lugar possível
para a emergência de práticas emancipatórias: o pensamento liminar para Walter
Mignolo; a exotopia para Mikhail Bakhtin; o terceiro espaço para Homi Bhabha.
Catherine Walsh nos fala daqueles que se movem entre lógicas distintas, entre
códigos, como é característico dos povos originários da América que há 500 anos
convivem com a moderno-colonialidade. Mas essa moderno-colonialidade não se
inscreveu num espaço vazio de significação, mas sim em territórios (natureza+cul-
tura+poder) onde foram conformados padrões cognitivos próprios (MIGNOLO,
miolo_geografia_UFF.indd 49 30/01/17 17:16
50 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
2003: 215). Por isso, mais do que resistência, o que se tem é R-Existência, posto
que não se reage, simplesmente, a ação alheia, mas, sim, que algo preexiste e é a
partir dessa existência que se R-Existe. Existo, logo resisto. R-Existo.
Assim como os romanos aprenderam com os gregos e estes dos egípcios, sa-
bemos que os colonizadores se apropriaram do conhecimento nativo para do-
miná-lo e ocupar seus territórios. Mas, depois de 500 anos os zapatistas trazem
o México Profundo à cena política e os bolivianos reinventam Tupac Katari. A
elite criolla boliviana sabe, literalmente, o que esse nome lhe traz à cabeça. A
totalidade do sistema mundo é não só contraditória como heterogênea e, assim,
não pode ser reduzida à dialética do capital-trabalho. Ou melhor, há heterogênese
na totalidade. Embora Marx tenha se colocado de um ponto de vista crítico e
emancipatório no interior do capitalismo, não teria percebido a diferença colonial
como constitutiva e estruturante do capitalismo, o que é fundamental para com-
preender a América Latina (ARICÓ, 1982), como, mais tarde, bem o faria José
Carlos Mariátegui. Walter Mignolo nos faz uma interessante provocação quan-
do se pergunta: “se, como condição de sua ‘inteligibilidade’, a diferença colonial
exige a experiência colonial em vez de descrições e explicações socio-históricas do
colonialismo. Suspeito que esse seja o caso e, se for, é também condição para a
diversidade epistemológica como projeto epistemológico...” (MIGNOLO, 2003:
253. Os grifos são meus – CWPG). E aqui temos um bom caminho para a crítica
a esse moderno “olhar de sobrevoo” (MERLEAU-PONTY; ARENDT, 1987)
que se abstrai do mundo para, de fora, colonizá-lo, o que nos remete à necessida-
de de um caminhar com, a um conhecimento com e não sobre.
Gaston Bachelard em seu A poética do espaço havia distinguido entre lógica
material, aquela que se constrói a partir do atrito, do tato e do contato com a
matéria, uma lógica do sentimento, e aquela lógica formal que se constrói pelo
olhar das formas, lógica matemática, para ele também ocularista. A parafernália
de visores, de amplos (tele)visores em cada esquina, em cada lugar, enfim, de
sensores a distância (sensoriamento remoto via satélite) nos dá conta da sociedade
do controle (Foucault) generalizado que essa lógica comporta (PORTO-GON-
ÇALVES, 2001). Assim, a problemática dos saberes não pode descambar para um
culturalismo que ignora a materialidade dos fazeres e dos poderes. Afinal, o fazer
cotidiano está atravessado o tempo todo pela clivagem da dominação, pelo menos
desde 1492 (os maias e os aimaras incluem também os impérios estatalistas dos
astecas e dos incas). No fazer há sempre um saber – quem não sabe não faz nada.
miolo_geografia_UFF.indd 50 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 51
Há uma tradição que privilegia o discurso – o dizer – e não o fazer. Todo dizer,
como representação do mundo, tenta construir/inventar/controlar mundos. Mas
há sempre um fazer que pode não saber dizer, mas o não saber dizer não quer
dizer que não sabe. Há sempre um saber inscrito no fazer. O saber material é um
saber do tato, do contato, dos sabores e dos saberes, um saber com (o saber da do-
minação é um saber sobre). Há um saber ins-crito e não necessariamente es-crito.
Cornelius Castoriadis e o grupo “Socialismo e Barbárie” dedicaram páginas mara-
vilhosas a esses saberes que se fazem desde os lugares, desde o cotidiano, desde as
lutas que, do ponto de vista dos grupos/classes sociais em situação de subalterni-
zação, se dão nos espaços ocultos e não nos espaços abertos dos conflitos da pólis
(SCOTT, 2004 [1990]).
O poeta brasileiro Caetano Veloso disse que “só é possível filosofar em alemão”
e, assim, à sua maneira, associou a episteme ao lugar. Embora o pensamento
filosófico tenha um lugar e uma data de nascimento, o pensamento não, como
nos ensina Walter Mignolo convidando-nos a não confundir o pensamento fi-
losófico com o pensamento enquanto tal. Assim, uma racionalidade mínima é
condição de qualquer comunidade humana e a diversidade de racionalidades o
maior patrimônio da espécie, sua expressão maior de criatividade. Talvez a ideia
de incompletude de cada cultura, proposta por Boaventura de Sousa Santos, se
constitua numa boa perspectiva para fundarmos um novo diálogo de saberes,
uma verdadeira política da diferença transmoderna (Dussel) para além da mo-
dernidade-colonial, conforme Enrique Leff nos convida com o auxílio de Ema-
nuel Levinas, abrindo espaço para uma hermenêutica diatópica (Boaventura de
Sousa Santos), do que talvez o zapatismo, esse híbrido de pensamento maia com
marxismo, e a interculturalidade, esse exotópico/terceiro espaço/gnose liminar,
onde também se vê o marxismo dialogando com os quéchuas e aimaras, sejam as
melhores traduções disponíveis.
miolo_geografia_UFF.indd 51 30/01/17 17:16
52 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Referências
ALIMONDA, Héctor. Pero jamás podrán quitarme la música... (Notas sobre uto-
pía, identidad, conocimiento en la periferia latinoamericana). 2006. Mimeo.
ARENDT, Hanna. Sobre a revolução. Lisboa: Ed. Moraes, 1971.
______. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987.
ARICÓ, José María. Marx y América Latina. México: Alianza Editorial Mexi-
cana, 1982.
BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec,
1999.
BHABHA, Homi. The Location of Culture. Londres: Routledge, 1994.
CARVALHO, José Jorge de. O olhar etnográfico e a voz subalterna. 1999. Consulta-
do em: 20 de agosto de 2006 em http://www.unb.br/ics/dan/Serie261empdf.pdf.
CAYCEDO, Jaime. Impacto regional del conflicto colombiano en América Lati-
na. In: CECEÑA, Ana Esther (Org.). Hegemonías y emancipaciones en el siglo XXI.
Buenos Aires: CLACSO, 2004.
CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1982.
CECEÑA, Ana Esther (Org.). Los desafíos de las emancipaciones en un contexto
militarizado. Buenos Aires: CLACSO, 2006.
CECEÑA, Ana Esther; SADER, Emir. La guerra infinita: hegemonía y terror
mundial Buenos Aires: CLACSO, 2002.
CUNHA, Antonio Geraldo Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, Ed.
Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1992
DÍAZ-POLANCO, Héctor. El Canon Snorri. México, D.F: UACM, 2004.
DUSSEL, Enrique. Europa, modernidade e eurocentrismo. In: LANDER, Ed-
gardo. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais – perspectivas
latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005 [2000].
miolo_geografia_UFF.indd 52 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 53
ESTRADA, Jairo. Las reformas estructurales y la construcción del orden neolibe-
ral en Colombia. In: CECEÑA, Ana Esther (Org.). Los desafíos de las emancipa-
ciones en un contexto militarizado. Buenos Aires: CLACSO, 2006.
HAESBAERT, Rogério. O mito da des-territorialização. Rio de Janeiro: Bertrand,
2005.
HARVEY, David. A condição pós-moderna. Rio de Janeiro: Loyola, 1989.
LANDER, Edgardo. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais.
São Paulo: CLACSO, 2005 [2000].
LEFF, Enrique. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
MARIÁTEGUI, José Carlos. As correntes de hoje: o indigenismo – set ensaios de
interpretação da realidade peruana. São Paulo: Alfa Omega, 1975.
MIGNOLO, Walter. Histórias locais/projetos globais. Belo Horizonte: UFMG, 2003.
MUMFORD, Lewis. Técnica e civilização. Barcelona: Editorial Ayuso, 1942.
NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano. São Paulo: Companhia
das Letras, 2000.
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Os (des)caminhos do meio ambiente. São
Paulo: Ed. Contexto, 1989.
______. Geo-grafías: movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabi-
lidad. México, D.F: Siglo XXI, 2001.
______. A geograficidade do social. In: SEOANE, José (Org.). Movimientos so-
ciales y conflicto en América Latina. Buenos Aires: CLACSO, 2003.
______. A reinvenção dos territórios: a experiência latino-americana e caribe-
nha. In: CECEÑA, Ana Esther (Org.). Los desafíos de las emancipaciones en un
contexto militarizado. Buenos Aires: CLACSO, 2006a.
______. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2006b.
QUIJANO, A. A colonialidade de poder, eurocentrismo e América Latina. In:
LANDER, E. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais latino-ame-
ricanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005.
miolo_geografia_UFF.indd 53 30/01/17 17:16
54 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
RAMA, Angel. A cidade das letras. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1985.
SCOTT, James. Los dominados e la arte de la resistencia. México: Era, 2004 [1990].
SEOANE, José (Org.). Movimientos sociales y conflicto en América Latina. Buenos
Aires: CLACSO, 2003.
SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Hucitec, 1996.
SOJA, Edward. Geografias pós-modernas. São Paulo: Zahar, 1993.
SOUSA SANTOS, Boaventura. Reconhecer para libertar – os caminhos do cosmo-
politismo multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
______. A Gramática do Tempo – para uma nova cultura política (São Paulo,
Ed. Cortez2006).
VAN COTT, Donna Lee. The friendly liquidation of the past: The politics of diver-
sity in Latin America. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2000.
WALSH, Catherine. Interculturalidad, reformas constitucionales y pluralismo
jurídico Quito, Boletin ICCI- RIMAI, Ano 4, n. 36. 2002a.
______. Las geopolíticas de conocimientos y colonialidad del poder. Entrevista
a Walter Mignolo. In: WALSH, C.; SCHIWY, F.; CASTRO-GÓMEZ, S. Indis-
ciplinar las ciencias sociales. Geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder.
Perspectivas desde lo Andino. Quito: UASB/Abya Yala, 2002b.
WOOD, Ellen Maikseins. Capitalismo contra democracia. São Paulo: Boitempo,
2003[1995].
miolo_geografia_UFF.indd 54 30/01/17 17:16
II – RAÇA, ESPAÇO
E COLONIALIDADE DO PODER,
DO SABER E DO SER
miolo_geografia_UFF.indd 55 30/01/17 17:16
miolo_geografia_UFF.indd 56 30/01/17 17:16
O movimento negro brasileiro e sua luta
antirracismo: por uma perspectiva descolonial
Renato Emerson dos Santos
Há, no período recente, uma emergência política da luta antirracismo no Bra-
sil. Os traços mais evidentes desta emergência são, de um lado, o surgimento de
políticas públicas de combate ao racismo e seus impactos (em diversos campos,
como saúde, educação, mercado de trabalho etc.), e, de outro, a ampliação e a
capilarização social do debate público sobre o fenômeno do racismo em nossa
sociedade, algo que era hegemonicamente silenciado (ou negado) pelo ideário da
democracia racial15.
Tais emergências se devem à luta do Movimento Negro brasileiro. Este ator
social, entretanto, deve ser observado em sua pluralidade constitutiva: um con-
junto diverso de atores que mantém uma unicidade, conformando um campo de
lutas que dialoga todo o tempo com outras lutas. Estamos falando do Movimento
Negro como um campo que agrega formatos institucionais diversos (além de
indivíduos não vinculados a instituições), com formas de ação diversas, temas de
luta e reivindicações diversos e, como combinação de tudo isso, diálogos diversos
com outras lutas por justiça social.
É neste ponto que acreditamos ser útil olhar para as relações raciais e luta
antirracismo dialogando fortemente com um olhar descolonial. Acreditamos que
este olhar vem sendo construído como um conjunto de agendas e proposições
teóricas e políticas, de um conjunto de intelectuais que Soto (2007) denominou
15 Em que pese a indicação de Wedderburn (2005), bem como de diversos outros autores, de que esta leitura
de “país” da democracia racial, exceção em todo o planeta, também é proposta em outros “países”, sobretu-
do da América Latina. Vivemos paradoxalmente, portanto, num “mar” de (ou, num continente composto
todo de) exceções. Ver, por exemplo, Oakley (2001) e Hidekazu (2002).
miolo_geografia_UFF.indd 57 30/01/17 17:16
58 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
“Grupo Modernidade/Colonialidade”. Destacamos aqui três agendas propostas
que consideramos brotar deste grupo e que nos sensibilizam no olhar da temática
racial: (i) produzir uma releitura do processo histórico de formação do mundo
contemporâneo, que rompa com os cânones eurocêntricos marcadamente he-
gemônicos16; (ii) repensar os processos de produção de saber científico, em sua
dimensão epistêmica (marcados pela chamada epistemologia de “ponto zero”),
valorizando a multiposicionalidade desta produção a partir de distintos “lócus
epistêmicos”; e (iii) compreender as realidades sociais a partir de uma multipli-
cidade de eixos de relações de poder (que envolvem dominação, exploração e
hierarquização) combinados.
Consideramos tal olhar pertinente para as questões raciais no Brasil não apenas
pela centralidade que autores desta corrente (ver, p. ex., QUIJANO, 2005, 2007,
2010) atribuem à raça enquanto princípio e instrumento de dominação mundial
nos últimos 500 anos, mas também por identificarmos proximidades e continui-
dades entre tais agendas e elementos das obras de importantes autores negros de-
dicados à luta contra opressões raciais, como Frantz Fanon na África ou Guerreiro
Ramos no Brasil17. Com efeito, estes e outros que são referências para a luta negra
brasileira também se opunham de diferentes formas à colonialidade – do saber,
do poder e do ser. Se podemos interpretar que eles em seus campos de saber tive-
ram seus projetos (políticos, teóricos, de conhecimento) derrotados em diferentes
contextos, podemos compreender que dentro do próprio Movimento Negro suas
propostas também são confrontadas a outras leituras do papel social do racismo, da
raça e das relações raciais – e de seus cruzamentos com outros princípios de domi-
nação/exploração/hierarquização, como classe, gênero, espiritualidade, cultura etc.
16 Ver, p. ex., Mignolo. Uma outra pensadora, não vinculada a este grupo, mas que também faz a crítica ao
eurocentrismo, a indiana Gayatri Spivak, aponta proposta semelhante do Grupo de Estudos Subalternos,
ao colocar que “o projeto deles é o de repensar a historiografia colonial indiana, a partir da perspectiva da
cadeia descontínua de insurgências de camponeses durante a ocupação colonial” (2010, p. 72) – o que
lemos como uma narrativa de histórias territoriais a partir do lócus epistêmico dos dominados/explorados/
subalternizados, ou mesmo daqueles que foram exterminados. É nesta mesma direção que temos proposto
pensar a formação do território brasileiro como um processo de “branqueamento do território” (Santos,
2009), que compreende o branqueamento da ocupação (com aniquilação, extermínio, expulsão ou mesmo
assimilação e embranquecimento de outros grupos, negros e/ou indígenas), o branqueamento da imagem
(com as narrativas históricas apresentando lugares, países, como sendo iniciados apenas a partir da chegada
dos brancos, ou seja, negando o protagonismo histórico a outros grupos) e o branqueamento cultural (com
a imposição de determinadas matrizes de relação sociedade-natureza sobre outras) dos territórios.
17 Obviamente, diversos outros diálogos (e/ou influências) do Grupo Modernidade/Colonialidade podem ser
apontados. Nos restringimos a estes pelo foco de interesse do presente texto.
miolo_geografia_UFF.indd 58 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 59
O presente trabalho tem como objetivo traçar algumas anotações sobre o ra-
cismo e a luta antirracismo do Movimento Negro brasileiro, sob uma perspectiva
descolonial. Para isso, aqui propomos a necessidade de: (i) debater a relação en-
tre racismo e outros princípios de dominação/exploração/hierarquização, repo-
sicionando o racismo dentro de leituras de totalidade; isso nos impulsiona a (ii)
construir uma leitura do nosso padrão de relações raciais, pensando-o em sua
complexidade e diversidade de mecanismos operativos; daí, (iii) compreender a
própria forma de estruturação e ação do Movimento Negro brasileiro, marcado
pela pluralização de formas e focos de ação, assim como de atores constituintes.
Acreditamos que assim estamos nos posicionando dentro das disputas de sentido,
significado, narrativa e estratégias que constituem o próprio movimento social.
Racismo enquanto sistema de poder segundo uma leitura decolonial
A raça é um critério básico de classificação da população mundial, funda-
mental para afirmação do sistema capitalista (QUIJANO, 2007)18. Sustentada
(durante um tempo) ou superada (mais recentemente) pelo saber do campo da
Biologia, é sua pertinência social em projetos de poder que sustenta sua perma-
nência, a despeito de ter ou não ter lastro em saberes científicos. É neste sentido
que mesmo com a negação da pertinência de diferenças biológicas entre seres
humanos que permitam sua classificação em grupos raciais, no cotidiano das re-
lações sociais a raça continua a ser um princípio regulador de comportamentos,
tratamentos e relações: reconhecer a igualdade biológica não necessariamente im-
pulsiona reconhecimento de igualdade social19.
Acreditamos que este princípio de classificação da população mundial decorre
do que alguns autores (GROSFOGUEL, 2010; QUIJANO, 2007, 2010) cha-
mam de “colonialidade” (do poder, do saber e do ser). A partir desta, a moder-
nidade se estabelece como padrão universal juntamente com uma contraface, a
colonialidade – que é diferente de colonização, a qual implica a existência de uma
18 Há todo um debate sobre a origem histórica de sistemas de dominação “raciais”. Moore Wedderburn
(2005), p. ex., aponta o sistema de castas indiano como um sistema de dominação pigmentocrático mile-
nar, portanto, anterior e independente do modo de produção capitalista. Não entraremos neste debate
aqui, mas trabalhamos com a leitura de que em nossa realidade o que opera é um sistema vinculado ao
capitalismo, e central para ele.
19 D’Adesky (2001), baseando-se em Pierre-André Taguieff, nos mostra a existência de racismos diferencialis-
tas e universalistas. Da mesma forma, também há antirracismos baseados tanto em universalismos quanto
em diferencialismos.
miolo_geografia_UFF.indd 59 30/01/17 17:16
60 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
administração colonial. A colonialidade é um padrão de poder que articula di-
versas dimensões da existência social20. Trabalho, subjetividade, autoridade, sexu-
alidade, cultura, identidade, entre outras, são todas dimensões constituintes das
experiências sociais de indivíduos e grupos, e são constitutivas de um pacote de
múltiplas relações de poder que, imbricadas, constituem a “colonialidade”. Esta
se vale, portanto, de hierarquias sexuais, políticas, epistêmicas, econômicas, espi-
rituais, linguísticas e raciais de dominação, operando em diversas escalas, desde a
global até as interações entre dois indivíduos.
A colonialidade é a própria base para a constituição e a afirmação histórica do
sistema capitalista, pois, segundo Grosfoguel (2010), o capitalismo se constitui e
afirma no mundo através de um conjunto de relações de dominação e exploração,
hierarquias sociais que pluralizam as experiências ordenando o primado de suas
relações: (i) uma hierarquia de classe; (ii) uma divisão internacional do trabalho
entre centro e periferia; (iii) um sistema interestatal de organizações político-mi-
litares; (iv) uma hierarquia étnico-racial global que privilegia os europeus frente
aos não europeus; (v) uma hierarquia sexual que coloca os homens acima das
mulheres e o patriarcado europeu sobre outras formas de relação homem-mulher;
(vi) uma hierarquia sexual que desqualifica homossexuais frente a heterossexuais;
(vii) uma hierarquia espiritual que coloca cristãos acima de não cristãos; (viii)
uma hierarquia epistêmica que coloca a cosmologia e o conhecimento ocidentais
sobre os não ocidentais; e (ix) uma hierarquia linguística que privilegia as línguas
europeias – e, também, a comunicação e a produção de conhecimento e teorias a
partir delas, enquanto as outras produzem folclore ou cultura.
Estas hierarquias estruturam as experiências de dominação e exploração que
organizam as trajetórias desiguais de indivíduos e grupos nos diferentes contex-
tos do capitalismo. Não há, portanto, hierarquia entre hierarquias – todas elas
são princípios ordenadores de relações sociais fundamentais para o capitalismo
no mundo. Partindo disso, nossos esforços devem orientar-se para a compreen-
são das combinações e superposições de hierarquias definindo múltiplos eixos de
subalternização e discriminação de indivíduos e grupos. Com efeito, para nos
atermos a um exemplo, ser mulher, negra, praticante de candomblé e baiana con-
20 “A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do poder capitalista.
Sustenta-se na imposição de uma classificação racial/étnica da população do mundo como pedra angular
do referido padrão de poder e opera em cada um dos planos, meios e dimensões, materiais e subjetivos, da
existência social quotidiana e da escala societal” (QUIJANO, 2010, p. 84).
miolo_geografia_UFF.indd 60 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 61
diciona experiências sociais distintas das de um homem, branco, cristão e paulista
– e isso vale tanto na Bahia quanto em São Paulo. Ambos, do ponto de vista das
relações de classe, podem ser proletários, ocupar posições semelhantes na estru-
tura produtiva, mas suas experiências de dominação, controle e exploração no
capitalismo (o que envolve também formas e taxas de exploração) serão distintas.
Tais princípios de distinção não operam de maneira absoluta no espaço e no
tempo, o que define experiências sociais complexas. Chamamos atenção aqui
para dois aspectos desta complexidade, importantes para pensarmos as dimensões
espaciais das relações raciais: primeiro, o fato de que a valorização/mobilização
destes pertencimentos em interações sociais varia, com momentos em que eles
regulam relações e outros em que eles não regulam as interações, não são mo-
bilizados; segundo, a complexidade dos próprios sistemas classificatórios e das
estruturas de “pertencimentos”, que mudam consideravelmente de contexto a
contexto. Falemos sobre cada um destes dois aspectos.
Padrão de relações raciais
Os princípios de hierarquização social a que aludimos, a partir de Grosfo-
guel (2010) são reguladores de relações e interações sociais. Entretanto, eles não
regulam absolutamente e da mesma forma todas as relações e interações. Sanso-
ne (1996), pesquisando padrões de relações raciais (em Salvador e Camaçari, na
Bahia), vai indicar que “(...) a cor é vista como importante na orientação das re-
lações de poder e sociais, em algumas áreas e momentos, enquanto é considerada
irrelevante em outros” (p. 183). O autor aponta que os contextos sociais podem
ser classificados em “áreas duras” e “áreas moles” das relações raciais. As “áreas
duras” são aquelas nas quais a dimensão racial importa, e onde normalmente
isso pende de maneira negativa para os negros: trabalho (e o acesso ao trabalho
em particular), o mercado matrimonial e de paquera e o contato com a polícia
são contextos que ele menciona como “áreas duras” das relações raciais. As “áreas
moles” são espaços no qual ser negro não dificulta (como o domínio do lazer em
geral) e pode às vezes até dar prestígio (o que ele chama de “espaços negros”, como
o bloco afro, a batucada, o terreiro de candomblé e a capoeira). As distinções en-
tre as áreas moles e duras envolvem a valorização ou não do pertencimento racial,
a definição de sistemas de posições (mais ou menos hierarquizadas) quando a raça
regula as relações e os comportamentos dos envolvidos em cada contexto (o que
também contempla vocabulários utilizados, entre outros aspectos).
miolo_geografia_UFF.indd 61 30/01/17 17:16
62 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Esta leitura do padrão (brasileiro) de relações raciais nos conduz a pensar não
apenas a racialidade (e a complexidade) das classificações raciais, mas também
uma classificação de contextos onde este princípio de hierarquização social (a
raça) é mobilizado ou não é. Sansone fala em “espaços”, e fazer uma leitura das
relações raciais a partir da sua espacialidade implica admitir que estes “espaços”
são, na verdade, “contextos de interação”. Há na nossa sociedade um complexo
padrão de relações raciais que mistura, no cotidiano das relações sociais, momen-
tos onde há interações marcadas por horizontalidade, integração e igualdade entre
brancos e negros e, ao mesmo tempo, outros momentos onde há verticalidades,
hierarquias e diferenças que são transformadas em desvantagens, ou vantagens
desiguais entre estes grupos. Esta mistura entre momentos de horizontalidade e
momentos de verticalidade é que vai permitir que, a um só tempo, convivam em
nossa sociedade (i) uma representação de si própria como sendo uma “democracia
racial” e (ii) a reprodução e a consolidação de desigualdades sociais baseadas em
raça, o que deveria ser extirpado caso horizontalidade, integração e igualdade fos-
sem princípios ordenadores das relações raciais vigorando em todos os momentos
da construção do tecido social.
Esta organização espaçotemporal das relações sociais delineia que, nos mo-
mentos e lugares em que se define o acesso às riquezas que a sociedade produz
(acesso a educação, emprego, saúde, conhecimento e seus instrumentos de pro-
dução, posições de poder etc.), as diferenças raciais são mobilizadas na forma de
verticalidades e hierarquias, assim produzindo e reproduzindo inequivocamente
as desigualdades raciais. Um profícuo exemplo é a disputa pelo acesso a um pos-
to de emprego: dois amigos, um branco e um negro, se apresentam em busca
de uma vaga de emprego. Neste momento há, como situação predominante em
nosso tecido social, uma vantagem do postulante branco em relação ao postulante
negro – o acesso ao emprego é um dos campos onde a assimetria é a marca das
relações raciais, inclusive nas situações em que há igualdade nas variáveis que po-
deriam configurar diferenciais entre os postulantes (mesma qualificação, mesma
idade etc.). Estes dois postulantes podem ser os melhores amigos, e, ao sair da
entrevista, se põem a comentar “Como foi a sua entrevista? O que lhe pergun-
taram?”, sentados numa praça, ou dentro do ônibus a caminho de suas casas.
Neste momento, eles voltam a ter uma interação marcada pela horizontalidade
nas relações inter-raciais, momento este que foi sutilmente precedido por outro
onde a assimetria era a tônica. E se, quando estão ambos dentro de um ônibus,
miolo_geografia_UFF.indd 62 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 63
este veículo de transporte coletivo for parado pela polícia? Terão igualdade de
tratamento? As chances de ser abordado pela polícia, e ter um tratamento de
desrespeito e suspeita por parte do policial são as mesmas? Este exemplo que reú-
ne situações corriqueiras na nossa sociedade mostra como a mudança de padrão
pode se dar no mesmo lugar, em momentos diferentes, ou em lugares diferentes:
espaço e tempo aqui são flexionados de acordo com o que está em questão em
cada “contexto de interação”.
Esta coexistência de momentos e lugares onde há posições distintas e distintos
padrões de interação racial é que permite que o mesmo indivíduo que seleciona
narcisicamente com base em pertencimento racial no balcão de emprego possa
retornar para sua rua e encontrar-se com um amigo negro. A ambiguidade no
comportamento deste indivíduo revela uma construção espacial que é resultante
de um “aprendizado” social: ainda que inconscientemente, ele “sabe” onde a raça,
a cor, o pertencimento racial é importante como critério (de seleção) regulador
das relações sociais e onde não é – afinal, um erro no trabalho pode lhe custar seu
emprego, e um erro nas relações de amizade pode lhe custar o reconhecimento e
laços afetivos. Goffman (1975) nos ajuda a compreender esta organização espacial
das relações sociais ao trabalhar com a ideia de “regiões de fachada” e “regiões
de fundo”, e mostra como há práticas e signos associados a tais “regiões”. Esta
geo-grafia simbólico-prática condiciona não somente práticas e normas de con-
dutas21, mas também as possibilidades de presença e os tipos de presença de indi-
víduos nos lugares (contextos e cenários sociais), de acordo com a forma como a
sociedade tem constituídas suas estruturas, seus pertencimentos e atributos.
Isso implica a assunção de que os corpos, os habitus, os códigos culturais dos
indivíduos são permitidos ou não dependendo do lugar (contexto e cenário so-
cial), o que tem relação direta com a construção e a forma como se estruturam as
hierarquias sociais (a colonialidade do poder)22.
21 Vale também ver a leitura que faz Giddens (1989) sobre esta organização espacial do fluxo das práticas so-
ciais no cotidiano, onde ele aprofunda o papel do espaço e do tempo (através das contribuições de Torsten
Hagerstränd) e das relações de poder (trazendo as contribuições de Michel Foucault).
22 Quijano (2010) propõe o conceito de “heterogeneidade histórico-estrutural do poder” que, nos ajudando
a realizar a articulação entre análises de caráter mais “atomísticas” com leituras de “totalidade”, indica
que “a articulação de elementos heterogêneos, descontínuos e conflituosos numa estrutura comum, num
determinado campo de relações, implica, pois requer, relações de recíprocas, determinações múltiplas e
heterogêneas”.
miolo_geografia_UFF.indd 63 30/01/17 17:16
64 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
É isso que condiciona o entrelaçamento de princípios de hierarquização social
nos diferentes contextos – um princípio pode se somar a outro enfatizando uma
posição subalternizada ou valorizada, pode anular ou relativizar outro, ou ainda
pode “substituir” discursivamente outro. É neste sentido que a raça pode ser e
pode não ser uma variável independente: ela pode estar num contexto atrelada
a outra variável (pertencimento religioso, gênero, instrução, classe), ou pode ser
mobilizada de maneira independente. Da mesma forma, estas outras variáveis
também podem ser mobilizadas atreladas a raça – como, p. ex., no caso da in-
tolerância religiosa contra as religiões afro-brasileiras, que tem nitidamente uma
dimensão racial atrelada à religiosa, afinal, religiões orientais e de outras regiões
do globo não sofrem no Brasil das mesmas violências simbólicas e físicas que as
de matriz africana recebem. Neste exemplo, se misturam a hierarquia racial, a
espiritual, epistêmica, com forte apelo de identidades geoculturais, o que explica
que em diferentes contextos cada uma delas pode ser mobilizada como base para
a discriminação – p. ex., em falas do tipo “o problema não é ele ser negro, mas
sim, macumbeiro”, uma dissimulação que nada mais é do que uma substituição
discursiva de um princípio hierárquico por outro, mas que tem o racismo em sua
base. No mesmo sentido, a crescente onda de políticas de cunho ambientalista
que impõem limites a práticas de religiões afro-brasileiras em determinados lo-
cais, alegando a defesa da natureza, também aparece muitas vezes lastreada em
preconceitos (religioso, racial), na medida em que é a própria cultura ocidental
das sociedades industriais (seio deste ambientalismo que defende um meio am-
biente sem a presença humana) que distancia a humanidade da natureza e assim
autoriza a sua exploração e destruição.
O racismo aparece, então, como sistema multidimensional de classificação so-
cial, que (no caso brasileiro) tem em marcos corpóreos (cor da pele, cabelo, entre
outros elementos fenotípicos) o principal traço diacrítico classificatório, mas que
pode associar outras variáveis para compor um sistema de dominação, controle e
exploração social. Isso resulta da complexidade dos sistemas classificatórios, e da
forma como eles são operados dentro de regras sociais.
No caso da classificação racial, diversos autores chamam a atenção para a di-
versidade de sistemas operados no cotidiano das relações sociais no Brasil (SAN-
SONE, 1996; PETRUCCELLI, 2000; OSÓRIO, 2003). Vários questionamen-
tos são feitos à classificação racial em situação de pesquisa, sobretudo à estrutura
classificatória utilizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
miolo_geografia_UFF.indd 64 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 65
na coleta de dados oficiais de população23. Esta classificação, realizada num con-
texto de interação específico (pesquisa, com autoclassificação em pergunta direta
ao entrevistado com categorias predefinidas24), tem objetivos definidos (sobretu-
do, captar estatisticamente a influência da cor/raça sobre fenômenos e dinâmicas
sociais) e acreditamos que cumpre razoavelmente suas funções.
Nas interações cotidianas, entretanto, há uma profusão de categorias e, mes-
mo, de sistemas classificatórios. A polarização branco-negro enseja uma miríade de
possibilidades, como: (i) nuances nas categorias intermediárias (moreno, mulato,
pardo etc.) que podem ter significados variáveis e não fixos (um mesmo indivíduo
pode ser num contexto classificado como branco, e em outro como moreno; outro
indivíduo pode ser classificado como moreno, e em outro contexto como negro);
(ii) sistemas distintos de classificação de acordo com o contexto, p. ex., num espa-
ço elitizado, o sistema classificatório pode ser ancorado na divisão entre brancos e
não brancos, estes últimos sendo todos aqueles que, a despeito de distinções entre
eles, se distanciam do referencial de brancura adotado na polarização – ou, numa
reunião do movimento negro, a base de pertencimento pode estruturar um sistema
classificatório baseado na divisão entre negros e não negros, com variações de tons
de pele, atributos fenotípicos e também influência do posicionamento político de
cada indivíduo. Um mesmo indivíduo pode ser classificado como “não branco” no
primeiro contexto e como “não negro” no segundo, sem que isso negue a ordem so-
cial racializada. A ambiguidade e a fluidez das categorias intermediárias, que podem
ter significados diferentes a cada contexto, servem para acomodar possíveis tensões
sociais – de maneira a exatamente afirmar o ordenamento social racializado.
Estes exemplos, “extremos” entre si (um contexto de valorização da brancura
e outro contexto de valorização da negritude) nos mostram a coexistência de
diversos sistemas classificatórios no tecido social, em que um mesmo indivíduo
pode ser enquadrado em diferentes categorias de acordo com o que está em jogo
23 A estrutura classificatória do IBGE para o quesito cor/raça utiliza cinco categorias: branco, pardo, preto,
amarelo e indígena. Para o órgão, diante da semelhança de comportamentos das estatísticas sociais de
pardos e pretos, que permite considerar que sejam resultados da exposição a processos sociais semelhantes,
estes podem ser agrupados numa categoria analítica, “negro”. “Negro”, para o IBGE, portanto, não é uma
categoria de cor/raça utilizada nas pesquisas, mas sim, a partir da análise dos resultados delas.
24 Ressalve-se que, na verdade, no caso do quesito cor/raça o levantamento censitário do IBGE mescla autoa-
tribuição com heteroatribuição, pois em caso de ausência da pessoa no domicílio é o entrevistado presente
(que pode ser morador da residência ou mesmo um vizinho) quem classifica a pessoa. A heteroatribuição,
neste caso, não é realizada pelo entrevistador.
miolo_geografia_UFF.indd 65 30/01/17 17:16
66 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
no contexto. E, como a raça é uma variável frequentemente associada a outras,
um mesmo indivíduo pode, por exemplo, ser classificado branco num contexto
e em outro (mais elitizado) ser classificado como “nordestino”25 (sendo no Rio
de Janeiro, ele seria pejorativamente chamado de “paraíba”, o que neste contexto
elitizado corresponderia a ser distinto da elite branca, ou seja, um “não branco”).
Não há, portanto, categorias estáticas, ou um único sistema de posições fixas que
“aprisione” indivíduos nas suas categorias.
O que se delineia então é um padrão mais complexo de relações raciais, em
que categorias intermediárias e câmbios de sistemas de classificações servem para
acomodar tensões que abalem a ordem social racializada, baseada nas hierarquias
constitutivas da colonialidade. Falas como “eu não sou racista, eu tenho um ami-
go negro”, ou “eu sou moreno, quando pego sol eu fico escuro quase como você”,
podem refletir cinismo diante de um contexto de conflito, mas se beneficiam
desta complexidade existente. O ordenamento social racializado (que aparece nos
indicadores sociais desiguais, na brancura dos espaços de riqueza e poder, entre
outros) depende, portanto, da legitimidade das categorias intermediárias e da
multiplicidade de sistemas classificatórios. Depende, na verdade, do ordenamen-
to espaçotemporal do uso destas categorias e destes sistemas nas relações sociais.
Tal configuração nos obriga a considerar o deslocamento analítico proposto
por Quijano (2010) das classes sociais às classificações sociais:
(...) é pertinente sair da teoria eurocêntrica das classes sociais e avançar para uma
teoria histórica de classificação social. O conceito de classificação social, nessa
proposta, refere-se aos processos de longo prazo nos quais os indivíduos disputam
o controle dos meios básicos de existência social e de cujos resultados se configura
um padrão de distribuição do poder centrado em relações de exploração/domi-
nação/conflito entre a população de uma sociedade e numa história determinada.
Já foi assinalado que o poder, nesta perspectiva, é uma malha de relações de
exploração/dominação/conflito que se configuram entre as pessoas na disputa
pelo controle do trabalho, da “natureza”, do sexo, da subjetividade e da auto-
ridade. (p. 112-113)
25 No Brasil, a concentração espacial da riqueza no centro-sul dentro do processo de industrialização, levado
a cabo também com grandes contingentes de trabalhadores oriundos da região nordeste do País, permitiu
o desenvolvimento de um preconceito de lugar de origem (bastante capitalizado pelas elites nordestinas na
manutenção de seu projeto de dominação) contra os nordestinos, que também articula traços corpóreos,
culturais, de acentuação linguística, entre outros.
miolo_geografia_UFF.indd 66 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 67
Segundo esta perspectiva, as classificações são resultado das disputas de po-
der, realizadas pelos indivíduos – e pelos grupos engendrados nas próprias dis-
putas, afinal,
a distribuição dos indivíduos nas relações de poder tem (...) o caráter de pro-
cessos de classificação, desclassificação e reclassificação social de uma popula-
ção, ou seja, daquela distinção que ocorre num padrão societal de poder de
longa duração. Não se trata aqui somente do fato que as pessoas mudam e
possam mudar o seu lugar e os seus papéis num padrão de poder, mas que tal
padrão está sempre em questão (...). (p. 115)
Temos então que a organização racializada das relações sociais compreende
também a dimensão da luta contra o sistema de exploração/dominação/conflito
baseado em raça. Isso tem implicações nas espacialidades das relações raciais, do
racismo – e, também, das múltiplas lutas que vão configurar o campo do antirra-
cismo do Movimento Negro. As relações raciais, nas suas múltiplas dimensões (de
corporeidade, de religião, de cultura etc.), com suas manifestações de atributos e
sistemas classificatórios constituem as suas próprias espacializações. Da mesma for-
ma, a luta antirracismo, as resistências às opressões e o Movimento Negro também
constituem as suas próprias espacializações. Exploraremos a seguir alguns exemplos.
Organização espacializada das relações raciais e experiências de espaço
O debate sobre a multiplicidade e a fluidez dos sistemas classificatórios como
ordenadoras das relações raciais, conforme indicado anteriormente, nos conduz
à classificação de contextos sociais. Esta classificação coloca os acontecimentos
sociais, os eventos e os contextos como matrizes de convergência entre espaço e
tempo26. Como nosso objetivo aqui é discutir relações raciais a partir de racio-
cínios centrados no espaço, nos ateremos a esta dimensão da vida social como
chave para desvendar as relações raciais. Temos, a partir destas discussões, que a
organização espacializada das relações raciais constrói aquilo que Sansone cha-
mou de “espaços negros” e “espaços brancos”, na verdade, atribuições subjetivas
de princípios valorativos a contextos e espaços. Porto-Gonçalves (2003) nos traz
indicação semelhante ao afirmar que
26 Cf. Santos, 2002.
miolo_geografia_UFF.indd 67 30/01/17 17:16
68 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
(...) uma sociedade que constitui suas relações por meio do racismo, (...) [tem]
em sua geografia lugares e espaços com as marcas dessa distinção social: no caso
brasileiro, a população negra é francamente majoritária nos presídios e absoluta-
mente minoritária nas universidades; (...) essas diferentes configurações espaciais
se constituem em espaços de conformação das subjetividades de cada qual. (p. 2)
Dialeticamente, a atribuição de valorações subjetivas a espaços e contextos
(“espaços negros”, “espaços brancos”), segundo Porto-Gonçalves, também con-
forma as subjetividades de indivíduos e grupos – lastreando sentimentos de ne-
gritude e branquitude, que, obviamente, são objetos constantes de disputas de
representações (e, o Movimento Negro obviamente busca atribuir significações
não subalternizadas à negritude, distintas do elucidativo exemplo dado por Por-
to-Gonçalves).
As “áreas moles” e “áreas duras” de que fala Sansone estruturam, portanto,
“fronteiras invisíveis” no espaço social das relações raciais, que se impõem através
de constrangimentos a indivíduos e grupos indesejados em lugares e contextos
determinados. Aqui é necessário remeter-se ao debate sobre o alargamento do
conceito de “fronteira”, do qual se pode ter uma amostra em Houtum e Naerssen
(2002). Os autores, abrindo uma publicação que fala sobre a ambiguidade das
políticas de controle de migração diante da expansão da mobilidade no âmbito da
globalização, vão apontar a importância do ordenamento das relações cotidianas
pelo estabelecimento de fronteiras através da construção de alteridades – o que
aparece já no título de seu clássico artigo: “Bordering, ordering and othering” –
em nossa tradução livre, “Fronteirizando, ordenando e alterizando”. Os autores
utilizam como recurso relacionar a articulação conceitual com o jogo de palavras
(“order” e “border”, respectivamente, “ordem” e “fronteira”), ao trabalhar com o
termo “(b)ordering”, que seria um ordenamento das relações sociais através do
estabelecimento de fronteiras, que não são as fronteiras político-administrativas
do Estado-Nação. Neste sentido, eles vão afirmar que
o ordenamento através da fronteirização [no texto original, “(b)ordering”]
rejeita e institui alteridade. Esta característica paradoxal dos processos de fron-
teirização nos quais as fronteiras são erguidas para ocultar ambiguidades terri-
toriais e identidades ambivalentes – de maneira a desenhar uma única e coesiva
ordem, ao mesmo tempo em que cria novas ou reproduz diferenças latentes e
já existentes no espaço e nas identidades – é de grande importância na compre-
miolo_geografia_UFF.indd 68 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 69
ensão das nossas práticas diárias contemporâneas. (HOUTUM; NAERSSEN,
2002, p. 126)
Isso nos auxilia a compreender a complexidade (espacial, temporal e social) das
regras das relações raciais no padrão brasileiro: há espaços, lugares, momentos, con-
textos de interação nos quais, através de comportamentos (que são fruto de coman-
dos e aprendizados) subjetivos (às vezes, bastante objetivos!), a presença negra pode
ser aceita, brindada e até valorizada, ou, por outro lado, tolerada, não aceita, repri-
mida ou repelida. Lugares onde a presença de um negro, ou de um grupo de negros,
pode passar despercebida em seu pertencimento racial, ou pode causar espanto ou
surpresa (“Quem é aquele? Como ele chegou até aqui?”), repressão ou repulsa (p.
ex., atendimentos em estabelecimentos comerciais e de serviços, como restaurantes,
lojas de produtos mais caros, shoppings etc., mas também empregos, posições de
prestígio, entre outros). Todos estes últimos comportamentos apontados indicam
tratar-se de espaços – lugares, momentos, contextos de interação – brancos, espaços
que não são construídos ou facultados para os negros em uma sociedade marcada
pelo racismo enquanto mecanismo organizador de relações. Isso impacta as experi-
ências de espaço, o ir-e-vir, na medida em que indivíduos e grupos subalternizados
causarão, em determinados contextos, sentimentos de espanto, estranhamento e
até mesmo repulsa – contextos e lugares onde sua presença é indesejada e onde as
fronteiras invisíveis se materializarão através dos comportamentos dos outros.
As “fronteiras invisíveis” organizam as experiências de espaço, definindo com-
portamentos aceitáveis e pertencimentos – na verdade, campos de possibilidades
e limites, cujo aprendizado é crucial para a reprodução social desta ordem. Afinal,
são constructos ideológicos inculcados em indivíduos e grupos que permitem esta
reprodução – expressões da colonialidade do ser nas relações sociais.
Por outro lado, diferentes formas de luta antirracismo vão disputar significa-
ções e construções identitárias, e um dos instrumentos é a criação de espaços de
valorização dos indivíduos subalternizados, contextos em que eles vão ser alçados
a posições superiores. Alguns desses são (re)produzidos como espaços de valori-
zação de negritude, com sentido cultural e político27. Como exemplos, podemos
27 Em Santos (2011), discutimos a importância de “discernir a emergência das identidades de base espacial
das diferentes formas de sua mobilização no jogo social” (p. 152). A construção de um espaço (ou, lugar)
enquanto referência de negritude não necessariamente tem subjacente um uso político – ou, este pode não
ser o principal mote da criação desta referência espacial da identidade.
miolo_geografia_UFF.indd 69 30/01/17 17:16
70 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
citar os bailes e espaços de “charme”, no Rio de Janeiro (p. ex., o baile do “Tanga-
rá”, que ocorre numa esquina no centro da cidade uma vez por mês) e em outras
cidades. Estes são espaços públicos, ocupados temporariamente por segmentos da
comunidade negra, enquanto momentos de lazer que são lastreados politicamente
pela valorização da negritude. A dimensão temporária e intermitente (porém re-
corrente) da ocupação destes lugares configura uma territorialidade marcada pela
superposição com outras territorialidades (p. ex., dos comerciantes, de trabalha-
dores)28. A geo-grafia deste espaço é dada pela corporeidade dos frequentadores
e pelos traços culturais valorizados que remetem diretamente à negritude. São as
experiências sociais (de espaço) que organizam esta geo-grafia das relações raciais.
Movimento Negro e diversidade de clivagens, formas de ação, focos de
combate
No exemplo acima, propositalmente evocamos uma significação política de
um evento de caráter cultural e festivo, mas que tem um papel fundamental na
recomposição de identidades coletivas mobilizadas (ou, mobilizáveis) na esfe-
ra política, dentro da construção daquilo que Paul Gilroy chamou de “política
negra”. Nosso objetivo aqui é apontar para uma linha de continuidade política
(ou analítica) entre formas estritamente políticas de organização e ação (coletiva
ou individual) e formas não estritamente (ou mesmo não enunciadamente nem
conscientemente) políticas de constituição desta “política negra”. É através desta
linha de continuidade (ou de mútua alimentação) que iniciativas de caráter cul-
tural têm papel político fundamental, por contribuírem para a recomposição de
identidades e formação de consciências de negritude, de discriminação e subal-
ternização. Contribuem, portanto, nas resistências ao controle de subjetividades
através das hegemônicas ideologias raciais de formação do ideário de nação29.
28 Silva (2002) nos auxilia a compreender esta configuração ao apontar que “os territórios urbanos podem
ser demarcados por um limite preciso que, muitas vezes, não é perceptível para a população local, como
o limite de atuação de uma delegacia de polícia ou de um distrito escolar. Outros territórios urbanos são
demarcados por limites simbólicos, como posturas, formas de condutas, vestimenta e até mesmo formas
de comunicação oral. O limite da atuação territorial pode ser, então, um limite cultural, comportamental,
social, em que a pessoa ‘diferente’ não pode usufruir do mesmo espaço por não ‘pertencer’ a ele” (p. 31).
29 No caso brasileiro, podemos falar de pelo menos duas ideologias raciais hegemônicas, desde o século XIX:
(i) a ideologia do branqueamento da população, hegemônica desde o século XIX até aproximadamente
meados do século XX, quando no bojo do processo de industrialização a dificuldade nas condições para
importação de força de trabalho branca imigrante obrigou a utilização crescente de estoques autóctones de
mão de obra (ver Vainer, 1990), o que impulsionou a emergência da (ii) ideologia da democracia racial,
miolo_geografia_UFF.indd 70 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 71
O movimento sempre foi composto por diferentes tipos de entidades (grupos
sem formalização, clubes recreativos, órgãos de imprensa, coletivos, e mais recen-
temente Ongs, entre outros) e indivíduos, atuando com organizações em diversas
escalas (grupos locais, regionais e nacionais, e incluindo-se diálogos e articulações
internacionais), conformando um campo próprio de ação ou vinculando a outros
tipos de organização (p. ex., diretórios e coletivos dentro de partidos, de sindi-
catos, de outras entidades de movimentos sociais etc.). Este conjunto amplo e
diverso constitui uma esfera dialógica em torno de uma mesma luta, com arenas
próprias e outras compartilhadas para troca, difusão, embates, que constituem
uma dinâmica não centralizada e, acima de tudo, complexa.
Além destas, a população negra engendrou outras formas de agregação e luta,
as quais, se não tinham diretamente a interlocução com o Estado e a reivindicação
de direitos como aspectos centrais, eram também formas de combate ao racismo
experimentado de maneira multidimensional nas experiências sociais dos negros
brasileiros. Clubes negros (que até hoje se articulam em torno do Movimento
Clubista Negro, com mais de 100 agremiações sociais afiliadas), blocos carnava-
lescos (com destaque para os blocos afro da Bahia), associações culturais (como a
Associação Cultural do Negro, criada em São Paulo em 1954), casas de religião
de matriz africana e afro-brasileira, grupos de capoeira, são expressões de estraté-
gias de resistência e combate ao racismo. Em outras narrativas sobre a história do
mesmo Movimento Negro, a relevância dada a estas expressões são base para sua
qualificação como “culturalista”30. Discordamos desta visão, que além de dissociar
a esfera política das outras dimensões do tecido social (o que por si já considera-
mos um equívoco), desconsidera as violências estatais historicamente impostas às
formas “estritamente” políticas (dialogando com seus termos) do ativismo negro,
e também a importância que estes espaços de socialização têm na constituição de
funcional para um modelo de acumulação de capital com base pobre (ou seja, ancorado na hiperexploração
da força de trabalho – ver Chico de Oliveira, 1982). O ideário da democracia racial pregou o convívio de
diferentes grupos raciais mas de maneira a preservar hierarquização e dominação entre eles, permitindo a
um capitalismo periférico, dependente e marcado pela colonialidade (!), instaurar taxas diferenciadas de
exploração e acesso às riquezas produzidas. Isso se reflete nas desigualdades raciais que diversos autores
vêm mostrando em estatísticas e indicadores sociais. Ao negar a existência do racismo (quando necessário,
a fórceps), o ideário da democracia racial neutraliza as reações a ele, constituindo-se então num poderoso
instrumento de controle de subjetividades inclusive dos subalternizados.
30 Ver, a esse respeito, Hanchard (2001 [1994]).
miolo_geografia_UFF.indd 71 30/01/17 17:16
72 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
uma consciência coletiva negra, mobilizável na esfera da política31.
Sobressalta-se então, no olhar sobre o Movimento Negro, como uma de suas
principais marcas, a pluralidade de formas de organização. Mais do que isso, ele
se caracteriza pela pluralidade de formas de ação, de projetos societários, e matizes
ideológicos. Como o combater o racismo é lutar contra um sistema de dominação
social de extrema complexidade e capacidade de reprodução, isso necessariamente
também acaba por gerar uma miríade de focos de intervenção engendrando di-
versas formas de ação. Em Santos (2010) apontamos a complexidade dos focos de
combate assumidos pelo Movimento Negro em sua luta antirracismo, que com-
preendem os atos concretos de discriminação, os impactos sociais do racismo32,
e também as cadeias de valores e visões de mundo que fundamentam um ideário
de superioridade racial33.
Pluralidade do Movimento Negro e a (luta contra a) colonialidade
Esta pluralidade que lhe é constituinte é um dado crucial para qualquer ten-
tativa de compreensão ou reflexão sobre a dinâmica da Luta Antirracismo do
Movimento Negro Brasileiro. Ela é fundamental para pensarmos pactos no fazer
político que permitam articular lutas em torno dos diferentes eixos de domina-
ção/exploração/hierarquização constituintes da colonialidade enquanto ordem de
poder multifacetada. A emergência de lutas “específicas” dentro do Movimento
Negro brasileiro (quilombolas, intolerância religiosa contra as matrizes afro-bra-
sileiras, mulheres negras, entre outras) vem evidenciando potencialidades (e pos-
síveis limitações a serem superadas também) na construção de uma ação política
que, ao mesmo tempo, atente e respeite as especificidades de demandas, reconsti-
tua sentidos de totalidade às lutas, que possam ser construídos através de diálogos.
As presentes notas neste artigo partem da crença de que a leitura descolonial é um
profícuo ponto de partida para este diálogo entre lutas.
31 Pereira (2008) narra um histórico do Movimento Negro brasileiro que valoriza essa multiplicidade de
agências de agregação, mobilização e ação.
32 Com destaque para as desigualdades raciais, o que permite que, mesmo sendo difícil a reconstituição dis-
cursiva das cadeias de atos e ações que consubstanciam o racismo (as diferentes formas de discriminação)
num determinado contexto ou problemática social, seja possível apontar impactos da organização racializa-
da de comportamentos sociais e valores, através da identificação da existência de desigualdades raciais.
33 O que sustenta a importância política inclusive daquelas iniciativas chamadas de “culturalistas” – leia-se
despolitizadas – em perspectivas reducionistas, mas que concorrem para promover equilíbrio nas represen-
tações de indivíduos e grupos ao constituir espaços de valorização da negritude.
miolo_geografia_UFF.indd 72 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 73
Referências
D’ADESKY, Jacques. Pluralismo étnico e multiculturalismo: racismos e antirracis-
mos no Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 2001.
GIDDENS, Anthony. A constituição da sociedade. São Paulo: Martins Fontes,
1989.
GOFFMAN, Erving. A representação do eu na vida cotidiana. Petrópolis: Vozes,
1975.
GROSFOGUEL, Ramon. Para descolonizar os estudos de economia política e os
estudos pós-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialida-
de global. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (Orgs.).
Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010.
HANCHARD, Michael. Orfeu e poder: o movimento negro no Rio e São Paulo
(1945-1988). Rio de Janeiro: UERJ, 2001 [1994].
HIDEKAZU, Araki. Movimiento Indígena y estado plurinacional: el caso ecua-
toriano. In: MUTSUO, Yamada; DEGREGORI, Carlos Ivan. Estados nacionales,
etnicidad y democracia em América Latina. Osaka: The Japan Center for Área
Studies / National Museum of Ethnology, 2002.
HOUTUM, H. van; NAERSSEN, T. van. Bordering, Ordering and Othering.
In: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie. Journal of Economic &
Social Geography, Vol. 93, Issue 2, 2002, p. 125-136.
MIGNOLO, Walter. Histórias locais/projetos globais: colonialidade, saberes subal-
ternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: UFMG, 2003.
OAKLEY, Peter. La exclusión social y los afrolatinos. Washington DC: Banco Inte-
ramericano de Desarrollo, 2001.
OLIVEIRA, Francisco de. O Estado e o urbano no Brasil. In: Espaço e Debates, n.
6, São Paulo, jun.-set. 1982, p. 36-54.
OSÓRIO, Rafael Guerreiro. O sistema classificatório de “cor ou raça” do IBGE.
Brasília: IPEA, série “Textos para discussão”, n. 996, 2003.
PEREIRA, Amauri. Trajetória e perspectivas do Movimento Negro brasileiro. Belo
Horizonte: Nandyala, 2008.
miolo_geografia_UFF.indd 73 30/01/17 17:16
74 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
PETRUCCELLI, José Luis. A cor denominada: um estudo do suplemento da Pes-
quisa Mensal de Emprego de julho de 1988. Rio de Janeiro: IBGE, série “Textos
para Discussão”, n. 3, 2000.
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A geograficidade do social: uma contribuição
para o debate metodológico sobre estudos de conflito e movimentos sociais na América
Latina. En publicación: Movimientos sociales y conflictos en América Latina. José Seoane.
CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina.
Programa OSAL. 2003. 288 p. ISBN: 950-9231-92-4. Disponible en la World Wide
Web: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/seoane/porto.rtf
QUIJANO, Aníbal. O que é essa tal de raça?. In: SANTOS, Renato Emerson
dos. Diversidade, espaço e relações étnico-raciais: o negro na Geografia do Brasil.
Belo Horizonte: Autêntica, 2007.
______. Colonialidade do poder e classificação social. In: SANTOS, Boaventu-
ra de Sousa; MENESES, Maria Paula (Orgs.). Epistemologias do Sul. São Paulo:
Cortez, 2010.
______. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LAN-
DER, Edgardo (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais.
Buenos Aires: CLACSO, 2005.
SANSONE, Lívio. “Nem somente preto ou negro: o sistema de classificação ra-
cial no Brasil que muda”. Afro-Ásia, n. 18, 1996, Salvador, p. 165-188.
SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Editora da Universidade de
São Paulo, 2002.
SANTOS, Renato Emerson dos. Ações afirmativas na luta contra o racismo: um pano-
rama da experiência brasileira. Rio de Janeiro: LAESER/UFRJ, mimeo, 21p., 2010.
______. Movimentos sociais e geografia: sobre a(s) espacialidade(s) da ação social.
Rio de Janeiro: Consequência, 2011.
______. Rediscutindo o ensino de geografia: temas da Lei 10.639. Rio de Janeiro:
CEAP, 2009.
SILVA, Jan C. O conceito de território na Geografia e a territorialidade da pros-
tituição. In: RIBEIRO, Miguel A. (Org.). Território e prostituição na metrópole
carioca. Rio de Janeiro: Ecomuseu Fluminense, 2002, p. 16-56.
miolo_geografia_UFF.indd 74 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 75
SOTO, Damián Pachon. Nueva perspectiva filosófica en América Latina: el gru-
po Modernidad/colonialidad. Revista Peripecias, n. 63, ago/2007.
SPIVAK, Gayatri. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: UFMG, 2010.
VAINER, Carlos Bernardo. Estado e raça no Brasil: notas exploratórias. Estudos
Afro-Asiáticos, Rio de Janeiro, n. 18, p. 103-118, 1990.
WEDDERBURN, Carlos Moore. Do marco histórico das políticas públicas de
ações afirmativas – perspectivas e considerações. In: SANTOS, Sales Augusto dos
(Org.) Ações afirmativas e combate ao racismo nas Américas. Brasília: Ministério da
Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005.
miolo_geografia_UFF.indd 75 30/01/17 17:16
miolo_geografia_UFF.indd 76 30/01/17 17:16
Colonialidade, biopolítica e racismo: uma
análise das políticas urbanas na cidade do Rio de
Janeiro34
Denílson Araújo de Oliveira
I. Introdução
Vivemos um período do urbano brasileiro denso de tensões raciais. Intolerân-
cia religiosa, destruição de terreiros, genocídio do povo negro, eventos de discri-
minação racial em espaços públicos e privados, racismo ambiental, políticas de
embranquecimento da paisagem/território, entre outras. O racismo se dimensio-
na espacialmente numa pluralidade de experiências que revelam tensões nos pro-
jetos de cidade e de nação. A cidade do Rio de Janeiro é ideologicamente utilizada
como padrão de nossas relações raciais. Nas últimas décadas tem se transformado
no principal laboratório das políticas de city-marketing. O objetivo do artigo é
analisar a inscrição espacial do imaginário colonial biopolítico racista nas políticas
de city-marketing na cidade do Rio de Janeiro35. Sugerimos duas possibilidades:
34 Este artigo é resultado das investigações do autor sobre o Imaginário Colonial, Espaço Urbano e Racismo
no NEGRA (Núcleo de Estudos e Pesquisa em Geografia Regional da África e da Diáspora) da Faculdade
de Formação de Professores da UERJ. Algumas das ideias aqui elaboradas foram parcialmente exploradas
em Oliveira (2014).
35 Apresentaremos uma leitura plural da biopolítica que nasce como exercício do poder sobre a vida das popu-
lações humanas. Neto (2008) identifica pelo menos cinco formulações de biopolítica criadas por Foucault.
1- A biopolítica e a saúde; 2- A biopolítica e o racismo de Estado; 3- A biopolítica e a sexualidade; 4- A
biopolítica e a segurança; 5- A biopolítica e a economia. Neste trabalho, iremos de forma direta e indireta
nos apropriar da relação entre biopolítica e saúde, racismo de Estado, sexualidade e segurança. Contudo,
Castro-Gómez (2012) e Grosfoguel (2011) apontam que a leitura de biopolítica de Foucault é marcada
por uma visão eurocêntrica, pois existem formações de poder que operam molecularmente que não estão
contempladas nas investigações de Foucault como a colonialidade.
miolo_geografia_UFF.indd 77 30/01/17 17:16
78 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
1- O racismo e o imaginário colonial como instrumento político/ideológico na
venda da imagem da cidade cordial e racialmente democrática para atrair investi-
mentos, empreendimentos e eventos; 2- Gestão racista da cidade como mecanis-
mo biopolítico de controle, segurança e instituidor de uma ordem espacial.
II. Racismo e marketing urbano
No atual período do capitalismo, a difusão da ideologia da competitividade
tem se revelado o novo nexo da problemática urbana. A guerra fiscal tem inten-
sificado a competição de governos locais e fortalecido as ações que buscam atrair
investimentos, tecnologias, fábricas, negócios, turismo para o planejamento estra-
tégico das cidades. A administração pública é submetida às mesmas condições e
aos desafios das empresas privadas (VAINER, 2011a; HARVEY, 2005). Este fato
impõe usos seletivos dos espaços. O planejamento estratégico passa a ser posto
como “[...] o único meio eficaz para fazer frente às novas condições impostas
pela globalização às cidades e aos poderes locais [...]” (VAINER, 2011a, p. 78).
Os porta-vozes deste modelo afirmam a necessidade de aproveitar ou inventar
singularidades de cada local. A cidade do Rio de Janeiro é posta como a vitrine
do Brasil destas singularidades: a mistura de raças, de paisagens (praia e morros,
floresta e o urbano), samba, carnaval e futebol. Assim, é necessário: 1- dissimular
a histórica racialização na distribuição da população pela cidade; 2- enfraquecer
as críticas ao processo de segregação racial do espaço urbano; 3- silenciar que a
dita mestiçagem foi construída com o estupro de mulheres “indígenas” e negras;
4- afirmar que somos um caso excepcional no mundo e que os eventos de discri-
minação racial são mínimos (ou mesmo inexistentes).
Torna-se crucial a produção de consensos pela grande mídia sobre a cidade
como se todos vivessem e transitassem pela zona do ser36. O caos urbano é di-
36 Grofoguel (2011; 2014), em diálogo com Fanon, aponta que o racismo cria uma zona do ser e uma zona do
não ser. Essas zonas não são homogêneas e nem “[...] un lugar geográfico específico sino una posicionalidad
en relaciones raciales de poder” em múltiplas escalas (Idem). A zona do ser não se vive à opressão racial e sim
privilégios. Na zona do não ser vive-se à opressão racial em lugar de privilégios raciais. Portanto, a opressão
de classe, de gênero e sexualidade vividas na zona do não ser é qualitativamente distinta das opressões vividas
na zona do ser. Negar a zona do não ser é negar opressões a hetararquias (Idem) inscritas e sentidas de forma
desigual no uso e na apropriação do espaço da cidade. A grande mídia buscará afirmar que o racismo não é
algo da cultura brasileira, Não somos racistas, título do livro de Ali Kamel (diretor-geral do jornalismo e do
esporte da Rede Globo de Televisão) que se coloca frontalmente às políticas afirmativas. A fabricação deste
consenso ideológico racial fez com que a Rede Globo utiliza-se do privilégio (econômico, político e racial)
do diretor num dos capítulos da novela das nove, Duas Caras, de 2008, apresentando a atriz negra Juliana
miolo_geografia_UFF.indd 78 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 79
fundido como um desses consensos que ameaça a cidade. A percepção de uma
crise urbana é criada para que o patriotismo sobre a cidade possa agir, superá-las
e camuflar os privilégios, usurpações e vantagens econômicas historicamente acu-
muladas (MEMMI, 2007). O passo seguinte é “[...] uma clara associação entre
de um lado, o sentimento (ou consciência) de crise e, de outro lado, o efeito útil
produzido, qual seja, as condições para uma trégua nos conflitos internos ou, se
prefere, para a paz social interna” (VAINER, 2011a, p. 93).
A grande mídia, através dos seus jornais locais, terá a incumbência de (de)formar
o grande público com dados da cidade através de câmeras de vigilância e monitora-
mento, informando os entraves da mobilidade como expressão de indivíduos e/ou
grupos postos como desordeiros e que a desordem urbana criada pelo poder local
para servir a burguesia moderno-colonial traria legados e benefício a todos. São re-
cursos territoriais oferecidos aos soberanos, com ajuda de conhecimento científico,
que dão autoridade de fala a essas informações e dados, para ajudar na gestão e na
administração governamental. O marketing urbano passa a ter papel central nos
governos municipais como mecanismo gerador de lucro e dissimulador de conflitos
sociais que faz uso de uma retórica falsa de participação popular e unificação da
cidade em torno de alguns consensos (Idem). O mito da democracia racial passa a
ser revigorado como elemento que nos singulariza de todo o mundo. “Este tipo de
militância, fortemente promovido pelos meios de comunicação de massa, produz
uma nova imagem da cidade e de seus problemas. Produz, sobretudo, uma nova
consciência do urbano [...]” (VAINER, 2011b, p. 116) a partir dos seguintes atri-
butos: 1- maciço investimento na afirmação de interesses comuns dos citadinos;
2- forte apelo aos valores de solidariedade humana e voluntarismo; 3- naturalização
da desigualdade [e despolitização da produção capitalista e racista do espaço]; 4-
descompromisso com a identificação dos mecanismos geradores da crise da cidade
(Idem). A cidade deixa de ser o local de abrigo e passa ser o lócus do medo e do
perigo racializado. As estratégias de segregação são postas como bem-vindas para
afastar o mal-estar e gerar uma sensação de segurança. Os pontos historicamente
privilegiados e que despertam o interesse dos grupos dominantes são fervorosamen-
te disputados e usurpados. Tornam-se espaços-vitrines (ROLNIK, 1988) da domi-
nação e hegemonia de classe e racial que precisam ser ardorosamente defendidos
Alves (fazendo o papel de Gislaine – uma estudante negra apresentada como a mulata Da Cor do Pecado,
título de outra novela de tom racista da mesma emissora) lendo o livro Não somos racistas, de Ali Kamel. Os
afro-convenientes são centrais para a tese de que não somos racistas.
miolo_geografia_UFF.indd 79 30/01/17 17:16
80 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
(fechados, vigiados e gradeados). Uma sociedade construída de enclaves territoriais
fortificados e de privilégios históricos ilegítimos, frutos da usurpação de espaços e
dos grupos subalternizados, fabrica o medo urbano como proteção e expressão do
racismo37. Para Foucault (apud MBEMBE, 2006):
El racismo es, en términos foucaultianos, ante todo una tecnología que preten-
de permitir el ejercicio del biopoder, “el viejo derecho soberano de matar”38.
En la economia del biopoder, la función del racismo consiste en regular la dis-
tribución de la muerte y en hacer posibles las funciones mortíferas del Estado.
Es, según afirma, “la condición de aceptabilidad de la matanza”39.
Em verdade, o racismo ao inscrever-se espacialmente cria campos, isto é, “[...]
território que existe fora da ordem jurídico-política, a materialização do estado
de exceção”40. Para Bourdieu os campos expressam os diferentes níveis da ação
que opera o sujeito. Logo, eles possuem diferentes graus de densidade e fluidez.
“Hoje, o estado de exceção e a despolitização penetraram tudo. É o espaço sob
vigilância CCTV [circuito interno de monitoramento] nas cidades de hoje, pú-
blicas ou privadas, interiores ou exteriores?”41. O estado de exceção transforma-se
em objeto de desejo e uma realidade do bloco histórico de poder responsável pela
gestão da cidade que tem o racismo como “o núcleo organizador da inter-relação
entre as tecnologias jurídicas, sociais, políticas, propagandísticas e eugenéticas.
[...] O racismo é o critério de decisão, nos governos totalitários, aplicado sobre
37 O racismo é aqui entendido como um padrão de poder que estabelece uma hierarquia de inferioridade/
superioridade acerca do humano pela raça (GROSFOGUEL, 2011; 2014) agindo em múltiplas dimensões
e escalas. Há, portanto, múltiplos racismos, como defende Fanon (2008). Há uma dimensão política, eco-
nômica, cultural e epistêmica do racismo, assim como escalas micro, local, regional, nacional, internacional
e global do racismo. O racismo pressupõe produção de afastamentos, distâncias materiais e simbólicas defi-
nindo limites e fronteiras acerca da humanidade do outro (OLIVEIRA, 2011). Assim, espera-se dos corpos
racialmente inferiorizados um comportamento espacial regulado, pois possuem um uso discriminado dos
espaços e das escalas da vida social e são corpos matáveis. A corporeidade passa a ser um patrimônio que se
carrega criando para este um capital racial. Em nossa investigação vemos que essa grafia espacial das relações
raciais são constantemente camufladas por ideologias raciais.
38 M. Foucault, Genealogía del racismo. De la guerra de las razas al racismo de Estado, La Piqueta, 1992, p. 90.
39 Ibid. , p. 10.
40 Entrevista com Giorgio Agamben concedida a Juliette Cerf, na Verso. Retirado de http://outraspalavras.net/
posts/giorgio-agamben-pensamento-como-coragem-de-transformacao/ em 4/8/2014.
41 Idem.
miolo_geografia_UFF.indd 80 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 81
quem deve viver e quem deve morrer” (AGUIAR, 2012, p. 142), numa situação
de plena vigência das regras constitucionais (Idem). O estado de exceção se con-
verteu na base normativa do direito de matar, mas que não é necessariamente um
poder estatal (MBEMBE, 2006)42. O medo branco da onda negra transforma-se
numa arma para os que geram e para quem se utiliza como pretexto para ações
arbitrárias e antidemocráticas sob o discurso da lei e da ordem.
[...] o racismo é indispensável como condição para poder tirar a vida de alguém,
para poder tirar a vida dos outros. A função assassina do Estado só pode ser
assegurada, desde que o Estado funcione no modo do biopoder, pelo racismo.
Vocês compreendem, em consequência, a importância – eu ia dizer a
importância vital – do racismo no exercício de um poder assim: é a condição
para que se possa exercer o direito de matar. Se o poder de normalização quer
exercer o velho direito soberano de matar, ele tem de passar pelo racismo. E
se, inversamente, um poder de soberania, ou seja, um poder que tem direito
de vida e de morte, quer funcionar com os instrumentos, com os mecanismos,
com a tecnologia da normalização, ele também tem de passar pelo racismo.
É claro, por tirar a vida não entendo simplesmente o assassínio direto, mas
também tudo o que pode ser assassínio indireto: o fato de expor à morte, de
multiplicar para alguns o risco de morte ou, pura e simplesmente, a morte
política, a expulsão, a rejeição etc. (FOUCAULT, 2005, p. 306)
Os exemplos racializados apontados como símbolos da desordem a serem eli-
minados, tanto do plano material quanto do simbólico, são inúmeros: os faro-
feiros e os funkeiros indo para praias e/ou “espaços-vitrines” (ROLNIK, 1988) da
cidade, a população em situação de rua, as cracolândias, entre outros, são largamen-
te utilizados pela mídia que apoia a competitividade e a inserção das cidades no
mercado mundial (SANCHEZ, 2004). O exercício biopolítico do Estado e seu
bloco de poder estabelece contenções territoriais, isto é, “[...] tentativas de barrar,
de conter essas ‘massas’ através de um dispositivo do tipo ‘barragem’. [...]. Novos
processos de contenção territorial ocorrem na medida em que uma sociedade
voltada fundamentalmente para a mobilidade e a circulação exige a contenção
de determinados fluxos [...]” (HAESBAERT, 2010). Desta forma, a proibição
42 Mbembe (op. cit.) aponta que a primeira experiência biopolítica foi a escravidão e que o contexto das plan-
tation expressa manifestações do estado de exceção, pois o soberano, no contexto colonial, poderia matar
em qualquer momento e local, não estando submetidos a nenhuma das regras legais e institucionais.
miolo_geografia_UFF.indd 81 30/01/17 17:16
82 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
dos rolezinhos43 foi uma estratégia biopolítica de contenção territorial que teve o
racismo como mecanismo de contenção, já que o critério racial era posto como o
mais ‘objetivo’ pelos aparatos de segurança tanto pública quanto privada na proi-
bição na entrada dos shopping centers. Mas Haesbaert (2010) aponta que numa
barragem é impossível controlar todo o volume que chega, sempre havendo verte-
douros “por onde o conteúdo, quando aumenta em volume, acaba fluindo. Você
barra sempre de forma parcial ou temporária. Não existe mais a possibilidade de
um fechamento completo” (Ibidem). Distinções raciais no acesso e no uso desses
espaços são necessárias para quebrar qualquer sentido de unidade negra ou dos
aparatos de in-segurança serem acusados de racistas. Os hábitos e costumes colo-
niais que fixam identidades não somente pela riqueza, mas também pelo capital
simbólico da “brancura” ainda é um signo de distinção no acesso e no uso dos es-
paços da cidade (CASTRO-GÓMEZ, 2009; OLIVEIRA, 2011). Neste contexto
de megaeventos, o espírito patriótico necessita criar uma divisão racial do trabalho
em que cabe à “mulata” o papel de atrair o turista internacional que vai criar
emprego e investimento na cidade44. A visão excepcional da mulher brasileira, es-
pecialmente a “mulata”, é revigorada para o consumo45. A grande mídia é um dos
principais divulgadores deste imaginário colonial sobre a mulher negra que reduz
as suas possibilidades de futuro ao consumo do seu corpo. Somos, assim, o país
das “mulatas”. Espera-se delas lealdade cívica, isto é, o patriotismo de cidade, para
43 Os rolezinhos foram um fenômeno social espontâneo que aconteceu em várias cidades brasileiras no se-
gundo semestre de 2013 e início de 2014 de passeios combinados pela internet de grupo de jovens das
favelas e periferias sociais urbanas em shopping centers. Além de demonstrar que a juventude pobre, em sua
maioria negra, vive em espaços segregados sem direito a lazer, ganharam destaque no noticiário nacional
e internacional devido ao mal-estar e medo branco explícito de uma onda negra, favelada, periférica, nos
seus espaços privilegiados de consumo, os shopping centers. Portas das lojas foram fechadas no momento dos
rolezinhos e ações judiciais foram expedidas para proibir esses encontros.
44 A ideia desistoricizada da mestiçagem é utilizada como um dos principais argumentos da singularidade
do brasileiro, em particular o carioca. Contudo, silencia-se que esta mestiçagem foi construída através do
estupro das mulheres “indígenas” e negras escravizadas que se tornou a base da criação deste país misturado.
Restitui-se o imaginário colonial sobre as mulheres negras como singularidade a ser vendida para o mundo.
A expressão da mulata é posta como exemplo deste povo misturado e posto como pacífico.
A mulata será exportada como símbolo da mistura de raças e síntese do povo brasileiro, carregando a marca
de permissividade sexual, isto é, a cor do pecado. O estereótipo da mulata se constituiu como o corpo espeta-
cularizado vendido como atrativo turístico (GOMES, 2010). Falaremos disso mais à frente.
45 Esta visão preconceituosa sobre a mulher brasileira tem fortalecido a imagem do Brasil como destino se-
xual. Exemplo disso foram as camisas da Adidas vendidas em São Francisco (que rapidamente foram tiradas
do mercado por pressão do movimento negro e feminista brasileiro), com o slogan da Copa do Mundo de
2014, marcadas pelo apelo sexual vinculado aos corpos das mulheres brasileiras para consumo.
miolo_geografia_UFF.indd 82 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 83
vender a imagem sem grandes conflitos e segura num contexto de crise iminente
(VAINER, 2011a)46.
O imaginário de brasilidade deve ser reforçado para que o Brasil se torne des-
tino turístico, assim a fusão entre mulher e natureza na comercialização do
paraíso deve ser reforçada com a fusão de mulher e cultura, com a comerciali-
zação da mulata. Assim, o Brasil se torna um paraíso de mulatas, onde natureza
exuberante, mulheres sensuais e mestiçagem fundem-se na figura da mulata.
(GOMES, 2010, p. 54)
Ademais, a reprodução do discurso do caos, da desordem e do medo urba-
no alimenta ações de limpeza étnico-racial no uso e na apropriação dos espaços
com a criação de muros, condomínios fechados, grades, sistema de segurança
ostensivo e intensivo através de câmeras de vigilância e sistemas eletrônicos para
observar, diferenciar e classificar os grupos potencialmente perigosos e estabelecer
políticas de controle de realidades locais. O critério racial tem sido acionado para
justificar ações segregadoras e de in-segurança. Para Foucault (apud MBEMBE,
2006) a biopolítica funciona segregando pessoas que devem morrer daquelas que
devem viver47. O espaço público passa a ser substituído pelo racializado e regula-
46 Essa competitividade exporta a imagem de país singular, hospitaleiro, que está a beira do caos e precisa
de espíritos patrióticos. Assim, imagens são exportadas de povo alegre, sorriso grotesco, corpos sexuais e
paraíso racial. As mulheres negras chamadas de mulatas são os ícones destas ações que as colocam como
possuidoras de uma suposta potencialidade sexual. Inclusive houve propagandas com o símbolo da Copa do
Mundo (o fuleco) que difundiam essas imagens sobre a mulata brasileira a ser consumida pelos “gringos”.
Este fato gerou inúmeras manifestações das feministas negras no país nas redes sociais.
A mestiçagem e a cordialidade são reproduzidas desde os anos 1930. Nos últimos dez anos um jogo semân-
tico, criado pelo Ministério do Turismo, tem se constituído, mas que mantém a lógica colonial em relação
às mulheres (GOMES, 2010). O discurso da promoção da imagem do Brasil ligado ao apelo sexual passa a
ser substituído pelo apelo à sensualidade natural da mulher brasileira. Isto é, obedece às legislações locais
(no Rio de Janeiro, Lei Estadual n. 4624/05) e internacional (Código Mundial de Ética no Turismo) que
criminalizam políticas de turismo ligado ao apelo sexual. No contexto dos megaeventos e empreendimentos
este discurso mantém a lógica colonial da permissividade da mulher brasileira como sexo fácil, difundindo
a cultura do estupro justificado para os turistas (não há pecado abaixo do Equador).
47 Essa ideia pode ser constatada na entrega de imóveis do programa federal “Minha Casa, Minha Vida” no
Rio de Janeiro, que tem sido marcada pela atuação biopolítica/necropolítica de milicianos.
“[...] constatou que todos, absolutamente todos os 64 condomínios do “Minha Casa, Minha Vida” destina-
dos aos beneficiários mais pobres – a chamada faixa 1 de financiamento – no município do Rio são alvo da
ação de grupos criminosos. Neles, moram 18.834 famílias submetidas a situações como expulsões, reuniões
de condomínio feitas por bandidos, bocas de fumo em apartamentos, interferência do tráfico no sorteio dos
novos moradores, espancamentos e homicídios (MARINATTO; SOARES, 2015).
miolo_geografia_UFF.indd 83 30/01/17 17:16
84 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
do pela bio e necropolítica para o consumo e extração de mais-valia. Desta forma,
“[...] o preconceito arma o medo que dispara a violência, preventivamente” (SO-
ARES, 2005, p. 175), pois cria padrões racializados de circulação no espaço público
(OLIVEIRA, 2011b). O racismo sustenta uma cultura do amedrontamento ao
se transfigurar em leis, políticas de in-segurança, representações estigmatizadoras
sobre determinados grupos sociais e espaços onde são maioria. Dispositivos de
vigilância e controle são usados para observar, diferenciar, classificar e hierarqui-
zar os usuários e os usadores (FOUCAULT, 2005; LEFEBVRE, 1986), acionando
aparatos de in-segurança (pública e/ou privada) que exercem o poder soberano de
fazer morrer (os considerados anormais, degenerados e raça ruim) ou deixar viver
(os que permitem serem adestrados, mas que podem ser eventualmente punidos
se desobedecerem) (FOUCAULT, 2005). Assim, vidas mutiladas e formas de (so-
bre)viver em que o seu direito de vida e liberdade é negociado com as autoridades
policiais e milicianos através de extorsão e propina “endossando impunidade à
procura de respeito”48. Este discurso estabelece uma identidade virtual negativada
do outro e dos seus espaços, um estigma, impossível de se retirar (GOFFMAN,
1963). Logo, a solução é aderir à lógica dominante (gentrificar e branquear).
O processo de gentrificação é marcado por uma política desterritorializadora
ao revitalizar e restaurar pontos das cidades expulsando as populações, em geral
negra e pobre, que aí vivem. A restrição histórica à propriedade da terra às popu-
lações negras é um dos principais fatores explicativos dos processos de segregação
de base racial49 (CAMPOS, 2012). Os processos de reificação são cruciais para
a eficácia do marketing urbano, pois determinados grupos não são percebidos
no plano cognitivo e nem suas inscrições socioespaciais, logo, são percebidos ou
tratados como “objetos” (HONNETH, 2008) que estão no lugar errado e preci-
sam ser removidos. Reificar expressa uma postura do olhar que despersonifica e
distingue apenas a ordem dominante. O ato de reificar significa não reconhecer,
invisibilizar, restituir o imaginário colonial ao destituir de importância existen-
cial. Práticas autoritárias são criadas para a reprodução do esquecimento como as
chamadas arquiteturas da exclusão.
Arquitetura de Exclusão são ações que criam um tipo de arquitetura de base
defensiva que buscam “limpar”/“higienizar” a paisagem e o espaço público de
48 Trecho da música “Tribunal de Rua” do grupo O Rappa.
49 Não ter o título de propriedade da terra pode significar expulsão, despejo e destruição de seus referenciais
identitários, especialmente nos espaços-vitrines alvos do planejamento estratégico.
miolo_geografia_UFF.indd 84 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 85
grupos considerados indesejáveis. Todo mobiliário urbano é criado para segregar.
Assentos são retirados das ruas e dos pontos de ônibus para não serem abrigo de
pessoas em situação de rua, fechamento de ruas, praças, casas e prédios são grade-
ados e vigiados, substâncias cortantes e/ou pedregosas são colocadas em locais que
podem virar abrigo para pessoas em situação de rua, entre outras ações. Quando
não é possível excluir do campo visual através da persuasão subliminar, o conven-
cimento explícito ou mesmo violência, isto é, eliminar no plano material, busca
eliminar também no plano simbólico por formas de invisibilização, pondo-os em
total descrédito. O exercício biopolítico do Estado estabelece um urbanismo de
defesa social criando espaços luminosos, emblemas da modernidade, e espaços
opacos, expressão do mal-estar e do patológico da colonialidade a serem elimina-
dos (CASTRO-GÓMEZ, 2009; SANTOS, 2002).
Os espaços de obsolescência que apresentam um conjunto de expressões ar-
quitetônicas antigas despertam novamente o interesse do grande capital. Elas são
revitalizadas, refuncionalizadas e reconstrói-se uma estética bucólica de paisagens
do passado colonial. “Antigas áreas ‘marginais’ das grandes cidades vão abrigando
complexos centros de lazer, com bares, restaurantes, galerias de arte e lojas de arte-
sanato” (LEITE, 2002, p. 119). Deslocam-se para o consumo mais-que-perfeito
os sentidos tradicionais da história transformando em arte para turistas (SAN-
TOS, 1987; LEITE, 2002). Os espaços revitalizados criados para o consumo
despolitizado são “[...] acompanhados de um reforçado esquema de segurança
(pública e privada), que ajudavam a transformar esse trecho da cidade em um ar-
tificial boulevard” (LEITE, 2002, p. 119-120). Todavia, revitalizam-se as heranças
físico-territoriais e mascaram-se as heranças socioterritoriais ou sociogeográficas
coloniais. Ou seja, as lutas, as tensões e os projetos pretéritos das populações po-
bres e negras são silenciados. As heranças físicas do passado da cidade são vistas
como um valor em si e não como fruto de uma produção histórica marcada por
distintas possibilidades. Santos (2002 [1996], p. 26) lembra que “o valor de um
dado elemento do espaço, seja ele o objeto técnico mais concreto ou mais perfor-
mante, é dado pelo conjunto da sociedade, e se exprime através da realidade do
espaço em que se encaixou”. Assim, o discurso de que serão preservadas as heran-
ças físicas do antigo cemitério de escravizados nas obras de revitalização do Porto
do Rio de Janeiro expressa marcas da segregação racial do passado colonial que
permanece no presente50. Estamos na era de ajustes espaciais (HARVEY, 2005)
50 Área que possui hoje uma baixa infraestrutura urbana e é majoritariamente habitada pelos descendentes da
miolo_geografia_UFF.indd 85 30/01/17 17:16
86 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
conhecidos popularmente como remoções que (re)estabelecem formas coloniais
de habitar a cidade (CASTRO-GÓMEZ, 2009) ao definir espaços de privilégio
econômico e racial51. Essa ação promovida pelo projeto Porto Maravilha tem re-
tirado uma resistência cotidiana do estado de hibernação e promovido a criação
de movimentos sociais urbanos negros na luta pelo direito à cidade e as formas
simbólicas espaciais (CORRÊA, 2007) da diáspora.
Seguindo as tendências mundiais da urbanização seletiva, excludente e espe-
taculosa, a territorialização das Arquiteturas de Grife reforça esses ajustes espaciais
primeira favela do Rio de Janeiro e de parte da população pobre e negra expulsa dos cortiços e casas de cô-
modo no final do século XIX e início do XX do centro da cidade. As reformas urbanísticas naquele período
visavam embranquecer a paisagem do Centro transpondo paisagens derivadas do mundo civilizado para os
trópicos (OLIVEIRA, 2011b), como a réplica do teatro municipal francês, o passeio público e as ruas largas
como são as atuais avenidas Visconde de Rio Branco e Presidente Vargas. Essas obras marcadas por imagi-
nário colonial não é um exemplo apenas do Rio de Janeiro, nem muito menos brasileiro. Castro-Gómez
(2009) aponta que neste mesmo contexto Bogotá (Colômbia) passava por um contexto muito parecido.
Em vários outros momentos da história moderno-colonial do urbano brasileiro desde o período colonial
veremos que a transposição de paisagens derivadas do mundo tido como o civilizado foi uma constante. Em
geral, as paisagens transpostas estavam relacionadas com fluxos migratórios da Europa e/ou quem era o ator
que estava se colocando como o hegemônico naquele momento. Teremos paisagens derivadas da civilização
nas cidades brasileiras de base portuguesa, holandesa, italiana, alemã, além da francesa, como estratégia de
branqueamento do território (SANTOS) e destituição de qualquer referência “africana” e/ou “indígena”.
A atual revitalização da zona portuária transforma o patrimônio em relíquia a ser consumida e não proble-
matiza a produção racializada do espaço. A “descoberta” do antigo cemitério de escravizados revela que usos
e apropriações do espaço eram e continuam sendo dados por critérios raciais, já que os negros escravizados
mesmo após a morte não eram dignos de serem enterrados junto com os brancos.
Hoje a população negra e pobre da localidade é expulsa das terras que ocuparam para as obras do Porto
Maravilha. Vemos aí, o espaço expressando o acúmulo de diferentes tempos da segregação racial da cidade.
O movimento negro tem buscado politizar este lugar de esquecimento na história urbana transformando-o
numa forma espacial simbólica (CORRÊA, 2007) da diáspora através de: 1- acentuar aspectos relevantes
do passado e a produção biopolítica do espaço; 2- reconstruir o passado conferindo novos significados e
inventando tradições; 3- criação de lugares de memórias coletivas da diáspora; 4- uma releitura do espaço
de experiências pretéritas como novo horizonte de expectativas da luta do negro ao direito à cidade; 5- um
“museu de grandes novidades” da cultura da diáspora negra. Mas as tensões ainda são muito intensas.
51 A Prefeitura alega nas propagandas oficiais que “as remoções têm o intuito de oferecer maiores condições
de habitabilidade e segurança aos moradores. Assim, quando a Secretaria Municipal de Habitação – SMH
declara que determinadas casas estão expostas a situação de risco, as mesmas devem ser desocupadas. [...]
A condenação das casas e posterior desocupação têm sido marcadas pela ausência de laudos técnicos que
balizem as decisões, pelo constante desrespeito às ações judiciais ou até mesmo pelo uso intimidador dos
agentes da justiça, caracterizando relações de truculência durante o processo. Recorrentemente tais práticas
têm sido acusadas pelos movimentos sociais, quase sempre sem publicidade. Um ato exemplar desta política
foi a edição do Decreto n. 30.398/2009, ainda na segunda semana da gestão Paes, estabelecendo que a re-
cém-criada Secretaria de Ordem Pública realizasse as demolições das edificações e construções sob risco de
desabamento ou irregulares, considerando inadiável a tomada de providências em relação aos prédios que
colocam em risco a vida e a segurança dos munícipes” (FAULHABER; NACIF, 2013, p. 6-7).
miolo_geografia_UFF.indd 86 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 87
(BIENENSTEIN, SANCHEZ, 2007; HARVEY, 2005). Elas referem-se a obras
assinadas por arquitetos e urbanistas de renome internacional que afirmam a cida-
de não para se morar, mas para se exibir (BARBOSA, 2002). O marketing urbano
imperativamente incute a ideia de orgulho que todos precisam ter das arquitetu-
ras de grife que estão sendo criadas. Essas paisagens expressam uma arquitetura
do espetáculo e de exibição que torna o hábitat preferido do usuário-consumidor
(ORTIGOZA, 2010). Logo, o objetivo é produzir comportamentos dóceis e in-
dividualidades patrióticas dessas novas paisagens urbanas. Como forma de banir
a política da cidade competitiva e “pacificada” (VAINER, 2011a), despolitiza-se o
setor de direitos humanos52, os estudos de impacto ambiental, as manifestações
sociais e qualquer elemento que possa ferir a imagem de cidade cordial, racial-
mente democrática (agora também contra a homofobia). O slogan da Prefeitura
do Rio de Janeiro “Rio sem Homofobia” se inscreve na tradição capitalista do
multiculturalismo celebratório consumista que não desestabiliza as estruturas ra-
cistas, machistas e sexistas do Estado, mas apenas compreende a diferença como
nicho de mercado. Logo, as violações contra os direitos sociais e humanos en-
contram pouco respaldo na esfera municipal, estadual e federal, assim como nos
três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário). Quando falamos em direito não
estamos abordando simplesmente as legislações e o seu cumprimento, mas o con-
junto enredado “de aparelhos, instituições e regulamentos que aplicam o direito,
põem em prática, veiculam relações que não são relações de soberania e sim de
[múltiplas formas de] dominação” (FOUCAULT, 1979, p. 102). Daí o papel do
marketing. O marketing urbano na cidade do Rio de Janeiro é marcado por uma
hegemonia de classe e racial que busca dissimular qualquer desigualdade racial
para exportar imagens de harmonia e democracia de nossas relações raciais perante
outras partes do mundo. Para Hanchard (2001, p. 7) “um processo de hegemonia
racial contribui para estruturar a desigualdade racial no País [e na cidade que mais
produz e exporta imagens deste país e dessa forma], negar sua existência dentro
52 Nos protestos contra os megaeventos e o city-marketing, Rafael Braga Vieira, um jovem negro, analfabeto,
pobre, em situação de rua, foi a única pessoa, em todo o território nacional, condenada por ato de violência
das manifestações de junho de 2013. Rafael não estava nas manifestações, mas foi preso pela polícia do Rio
de Janeiro no bairro ao lado onde estavam ocorrendo as manifestações, portando uma garrafa de plástico
de desinfetante e água sanitária que ele possuía para levar para o local em que iria dormir na noite de 20 de
junho de 2013. No laudo pericial, que deveria ser técnico, o perito afirma que uma garrafa de plástico com
desinfetante e água sanitária, que são materiais não explosivos, seriam utilizados para construir explosivos,
o chamado coquetel molotov. Vemos a gestão biopolítica do espaço através de práticas racistas e classistas
restituir os tempos da ditadura e da escravidão ao usar Rafael Braga Viera como bode expiatório.
miolo_geografia_UFF.indd 87 30/01/17 17:16
88 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
da complexa ideologia da democracia racial e criar as precondições de sua perpe-
tuação”. Três paisagens higienizadas são muito acionadas no marketing urbano da
democracia racial: as praias, o carnaval (tanto de rua quanto do Sambódromo) e o
futebol (marcadamente, o Maracanã). O uso político/ideológico destas paisagens
transformadas pela grande mídia em paisagens emblemáticas da democracia racial
que buscam povoar o imaginário da cidade em todo o Brasil e no exterior através
de um simulacro de integração social. Esses discursos sobre a paisagem carioca
transformaram-se em marca da identidade brasileira pelo discurso dominante que
tem como matriz os valores luso-tropicalistas ligados à democracia racial53. Na era
dos megaeventos e da sociedade de controle e da in-segurança, exige-se contro-
le e vigilância frentes aos anormais e grupos racialmente postos como perigosos,
demarcando-se que estes façam itinerários e programas espacialmente regulados,
orientando os seus fluxos coletivos para fora dos espaços-vitrines e de grande visibi-
lidade para atração de investimentos e turistas internacionais. O marketing urbano
visa assegurar a normalidade dos acontecimentos. A grande mídia terá a respon-
sabilidade de: 1- (re)produzir o discurso paisagístico do povo cordial e da democracia
racial; 2- camuflar o conteúdo segregador do marketing urbano; 3- divulgar ima-
gens de áreas gentrificadas para se tornarem centros de atração turística nacional/
internacional. Nas peças publicitárias a cidade do Rio de Janeiro está a dois passos
do paraíso, e a imagem racializada da sociedade perfeita é exemplo para o mundo.
Este projeto de cidade estabelece e reproduz fascismos sociais54. As dissimu-
lações das hierarquizações impedem a apropriação e o uso indiscriminado da ci-
dade, nega a possibilidade do encontro, denunciando a cidade como lugar im-
próprio para se tecerem identidades sociais (BARBOSA, 2002). Os pobres das
favelas viram a mais nova atração grotesca nas excursões com jipes de safáris, dos
turistas com suas câmeras, binóculos e roupas para entrar no mundo dos selva-
53 Mas silencia que “[...] as famosas praias da Zona Sul, onde se contam a dedo os negros que as frequentam.
No caso destas praias, é possível vê-los como vendedores ambulantes (chá-mate, mentira carioca, cerveja,
refrigerante, óculos de sol etc.), como se o serviço doméstico se transferisse para as áreas de lazer” (GARCIA,
2006, p. 200). Também silencia a hegemonia branca nas posições de poder, a intensificação de eventos
de discriminação racial coletiva nos campos de futebol e dissimula a segregação racial dos moradores das
comunidades.
54 Para Santos (2010) fascismos sociais não se referem ao fascismo dos anos 30 e 40. “Ao contrário deste, não
é um regime político, mas social e civilizacional. Em vez de sacrificar a democracia às exigências do capita-
lismo, promove-a até não ser necessário nem conveniente sacrificá-la para promover o capitalismo. Trata-se
de um fascismo pluralista, forma que nunca existiu.” Para o autor são três fascismos sociais: 1- o fascismo
de Apartheid Social; 2- o fascismo paraestatal; 3- o fascismo de insegurança. Falaremos deles adiante.
miolo_geografia_UFF.indd 88 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 89
gens, como exemplo na “comunidade pacificada” do Santa Marta, o mais novo
zoológico humano em que os moradores são postos como atração de circo e em
atitude grotescas.
Rutherford (1990) mostra que o capital se apaixonou pela ideia da diferença,
pois percebeu a lucratividade possível na prática de divulgar e vender produtos
que destacam as dicotomias culturais, isto é, produtos que identificam “nossa
exclusividade” e o “exotismo” do “outro”. A diferença é visualizada pelo capital
como valor de troca, que se realiza através do exotismo, dos prazeres, diverti-
mentos e aventuras capazes de oferecer. (PINHO, 2004, p. 187)
Mais uma situação colonial reconstruída dos tempos do imperialismo, os exó-
ticos africanos, agora os exóticos favelados55. O necropoder56, instrumento base
para gestão racista do espaço urbano e do território da cidade, emerge coisifican-
do os moradores de favela, aniquilando sua integridade moral (MBEMBE, 2006)
como novo souvenir a ser consumido pelo turismo internacional.
III. Gestão racista do espaço urbano
“Não há capitalismo sem racismo”. Essa máxima de Malcom X dos anos 60 tem
se tornado cada vez mais um elemento explicativo da realidade do Rio de Janeiro no
atual contexto. Vivemos um período de catarse coletiva elitista e racista57. Aumento
exponencial do genocídio do povo negro; “policiais” criminosos que sequestram,
torturam e matam transeuntes pela noite da cidade e moradores de favelas sob
“proteção” das UPPs (Unidades de Polícias Pacificadoras), como o conhecido caso
do morador da favela da Rocinha Amarildo58; muros são criados nas vias de circu-
55 As favelas nasceram como a contraface da modernidade urbana. Ou seja, a favela é a expressão moderno-
-colonial do urbano, subalternizando grupos sociais que a compõem e caracterizando-se como formações
territoriais subalternas num contexto de (re)novação da colonialidade nos primórdios do pós-colonialismo.
56 Para o filósofo camaronês Achilles Mbemebe (2006), inspirado na ideia de biopolítica de Foucault, o ne-
cropoder e a necropolítica revelam que a expressão última da soberania reside no poder e na capacidade de
decidir quem pode viver e quem deve morrer.
57 “Em toda sociedade, em toda coletividade, existe, deve existir um canal, uma porta de saída, através do qual
as energias acumuladas, sob forma de agressividade, possam ser liberadas” (FANON, 2008, p. 13).
58 Até o momento o seu corpo não foi encontrado. O caso Amarildo não é o único. Estudiosos estimam que
tenha ocorrido um aumento considerado dos desaparecidos forçados relacionados com casos policiais.
miolo_geografia_UFF.indd 89 30/01/17 17:16
90 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
lação (linhas amarela e vermelha) para esconder do turismo internacional as favelas
e que a segregação carioca tem cor, ou seja, um princípio social higienizador de
embelezamento estratégico da paisagem que visa disciplinar as apropriações da pai-
sagem (LEITE, 2002)59; ao mesmo tempo em que cresce o número de jovens de
classe média-alta que acorrentam, espancam e matam pessoas em situação de rua,
suspeitas de assalto e/ou viciadas em crack sob aplausos de transeuntes e setores da
mídia racista que os chamam de “anjos linchadores” que saem com suas motos pelos
espaços privilegiados economicamente, com porretes e correntes, para restabelecer
o “clima de paz e tranquilidade”, isto é, a cidadania pau-brasil que estabelece en-
quadramento da população negra nos limites da subalternidade e da invisibilidade.
[...] A função do cacete é exatamente dissuadir os que tentam fugir ao espírito
nacional de camaradagem, de cooperação, de patriotismo. O cacete é paternal
admoestação para o operário que faz greves, para a empregada doméstica que
responde à patroa, para o aluno rebelde, para a mulher que não cuida da casa,
para o crioulo que não sabe o seu lugar, para o malandro que desrespeita a
“otoridade”, para qualquer um de nós que não saiba com quem está falando.
O porrete é para quebrar o gênio rebelde e trazer de volta ao rebanho todos os
extraviados. Como diziam os bons padres da colônia, o castigo é para o pró-
prio bem dos castigados. É um cacete brasileiro, muito cordial. É pau-brasil.
(CARVALHO, 1999, p. 309)
Este contexto de acirramento de conflitos raciais restitui situações coloniais (FA-
NON, 2008), isto é, os negros são postos como os ladinos (aqueles que aprende-
ram o seu lugar na estrutura espacial racista) e os boçais (os que não sabem, mas
irão aprender – por bem ou por mal – o seu lugar na estrutura racista). Esta catarse
racista tem ganhado dimensão espacial nas ruas das cidades brasileiras. A gênese
dessas ideias está em Kant e Hegel. Kant afirmava que os negros só poderiam ser
educados como servos ou escravos. Para isso, era aconselhável o castigo físico mais
violento, pois a sua grossa camada de pele os tornaria mais resistentes às chibatadas
(KANT apud WASH, 2004). Logo, crueldade não se aplica aos negros, pois, como
afirmava Hegel, não são humanos (Idem). O necropoder emerge, pois algumas po-
pulações devem morrer (MBEMBE, 2006). Os justiçamentos revelam o exercício
da necropolítica pelos aparatos privados da hegemonia/supremacia racial.
59 Os muros nestas vias são feitos com materiais acrílicos que apresentam desenhos infantis para distrair os
passageiros nas viagens e eliminar as experiências paisagísticas com a favela que está atrás do muro.
miolo_geografia_UFF.indd 90 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 91
O cidadão brasileiro é o indivíduo que [...] tem o gênio quebrado a paulada, é
o indivíduo dobrado, amansado, moldado, enquadrado, ajustado a seu lugar.
O bom cidadão não é o que se sente livre e igual, é o que se encaixa na hierar-
quia que lhe é prescrita. (CARVALHO, op. cit.)
A cidadania ao porrete (Idem), uma forma de dimensionar o necropoder,
tem se revelado nas práticas de justiçamento. Martins (1995), avaliando os EUA,
aponta que há dois tipos de modalidades de justiçamento criadas pelas práticas de
linchamentos. Entendemos que essas duas modalidades têm emergido no Brasil
no atual contexto em diferentes intensidades e contribuído para promoção de
ajustes espaciais racistas do urbano. O primeiro mob lynching são “[...] grupos que
se organizam súbita e espontaneamente para justiçar rapidamente uma pessoa
que pode ser ou não ser culpada do delito que lhe atribuem” (MARTINS, 1995,
p. 297). As motivações racistas deste tipo de violência marcam tanto o consciente
quanto o inconsciente coletivo dos praticantes. No contexto que analisava Mar-
tins nos anos 90, a mob lynching era a modalidade de justiçamento predominante
na realidade brasileira, aponta o autor.
No atual contexto, a segunda modalidade proposta por Martins apresenta um
intenso crescimento no uso e na apropriação discriminada dos espaços-vitrines da
cidade com os justiçamentos conhecidos por vigilantism. Para o autor, “os justiça-
mentos nesse caso decorriam da ação de grupos organizados que impunham valores
morais e normas de conduta através do julgamento rápido e sem apelação da pró-
pria comunidade” (Idem, p. 297). Esta modalidade nos EUA tinha uma geografi-
cidade própria, o Sul. Nesta região as práticas de linchamento visavam manter os
negros nos limites da sua casta, e no Oeste “o objetivo era o oposto: desencadear
uma pedagogia da violência com o objetivo de impor o acatamento da moralidade
puritana tradicional, a ordem e a lei” (Ibidem, p. 298)60. Mas, “nos dois casos, a ins-
piração dos linchadores era conservadora e orientada para a preservação da ordem
[socioespacial] que se acreditava ameaçada” (Ibidem). Outra diferença da realidade
dos EUA é que lá os linchamentos se constituíam mais em contextos rurais, e no
Brasil mais predominantemente urbanos, “embora haja registros de linchamentos
rurais e outros envolvendo membros de populações indígenas (nos quais, portanto,
a motivação racial está claramente presente)” (MARTINS, 1995, p. 298)61.
60 O vigilantism também atinge no Brasil a população LGBTT ao expressar as suas afetividades no espaço
público. A biopolítica do deixar viver ou fazer morrer tem a dimensão da sexualidade.
61 O autor apresenta que a dificuldade de noticiar informações do campo brasileiro.
miolo_geografia_UFF.indd 91 30/01/17 17:16
92 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Se nos Estados Unidos há claramente um caráter pedagógico na prática do lin-
chamento, no caso brasileiro a tentativa de impor valores e normas de conduta
não é evidente. Os linchamentos que aqui ocorrem, pela forma que assumem e
pelo caráter ritual que parecem ter, são claramente punitivos. É claro que o eram
também nos Estados Unidos. Mas, ali, os diferentes estudos mostram que os
linchadores pretendiam, com sua violência, alcançar prioritariamente mais do
que a própria vítima. Aqui, as indicações sugerem que os linchadores querem
atingir fundamentalmente a própria vítima, não havendo nítidas preocupações
com as vítimas potenciais. Provisoriamente, pode-se dizer que aqui ainda pre-
dominam fortemente os componentes irracionais do comportamento coletivo.
Aqui, o objetivo não é o de prevenir o crime por meio da aterrorização, mas o
de puni-lo com redobrada crueldade em relação ao delito que o motiva. Aqui,
o linchamento é claramente vingativo.
No nosso caso, os linchamentos sugerem que há um arraigado sistema de va-
lores [coloniais] subjacente ao comportamento coletivo violento. E, ao mesmo
tempo, uma combinação difícil entre tal sistema e os valores racionais da lei
e da justiça. Há uma dupla moral envolvida nessas ocorrências – a popular e
a legal. Na verdade, esta última está sendo julgada por aquela. A legitimidade
desta está em questão. (Idem, p. 298-299)
O crescimento de casos de linchamento não só é reveladora de elementos
violentos da nossa realidade, mas também do modelo colonial de “cidadania”
no Brasil. Martins (2014), analisando o caso recente do rapaz preso a um poste,
espancado e humilhado por jovens de classe médio-alta no bairro do Flamengo
(RJ) no início de 2014, nos fala deste modelo de cidadão62.
Desde quando seus antepassados foram trazidos da África, empilhados em na-
vios negreiros, para serem vendidos no Valongo depois de estirados na praia
para destravar o corpo, o menino negro sabe quem manda e quem obedece.
O tronco e a chibata no lombo de seus antepassados surraram também sua
62 No início de 2014 a mídia passou a relatar ações de grupos jovens, em sua maioria brancos, de classe média-
-alta que se intitulavam justiceiros que acorrentavam, torturavam pobres, em sua maioria negros, suspeitos
de roubos, viciados em crack e em situação de rua. No final de outubro deste mesmo ano (2014), alguns
integrantes da quadrilha dos justiceiros que acorrentou e espancou o jovem negro no bairro do Flamengo
foram presos por tráfico e associação ao tráfico de drogas pela polícia do Rio de Janeiro. Segundo o jornal
Brasil de Fato do dia 30 de outubro de 2014: “Eles também praticavam crimes como roubo e furto de auto-
móveis, receptação, estupro e tentativa de homicídio, além de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
O grupo agia nos bairros Flamengo, Catete e Laranjeiras”.
miolo_geografia_UFF.indd 92 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 93
memória e lhe ensinaram as lições que sobrevivem 125 anos depois da liber-
dade sem conteúdo da Lei Áurea. A lei que libertou os brancos do fardo da
escravidão antieconômica. Mais de um século depois, o menino ainda sabe
como é que se fala até mesmo com moleque que herdou os mimos da casa-
grande: “Eu não, meu senhor, todo mundo aqui é trabalhador”, defendeu-se.
Esse menino descende de homens livres há mais de um século. Mas a chibata
ficou lá dentro da alma, ferindo, dobrando, humilhando, criando desconfian-
ça, ensinando artimanhas de quilombo para sobreviver. Esse “meu senhor” diz
tudo, fala alto, grita na consciência dos que a têm. Esse “meu senhor” desdiz
a liberdade, desmente a Lei Áurea, nos leva de volta aos tempos da senzala,
do tronco e do pelourinho. Esse “meu senhor” expressa uma liberdade não
emancipadora, que não integrou o negro senão nas funções subalternas de
uma escravidão dissimulada, mas não na ressocialização para a liberdade e para
a cidadania. Quem acusa o menino não sabe que a sociedade não pode colher
o fruto que não semeou.
No dia 13 de maio de 1888 não libertamos ninguém. Continuamos todos es-
cravos da escravidão que não acaba, da moral retorcida que nos legou, da cons-
ciência cindida que nos faz crer que somos uma coisa sendo outra. No mundo
novo da liberdade abstrata de um contrato fictício não podemos nos encontrar
porque não encontramos o outro, não podemos ser livres porque não nos liber-
tamos no outro, não podemos ter direitos de que os outros carecem.
Essa catarse coletiva racista e elitista reinstitui o pelourinho como instrumento
de dominação. Para Memmi (2010) a função do racismo é marcar e legitimar a
dominação. Assim, compreendemos que a restituição do sistema pelourinho hoje
afirma o vínculo orgânico entre racismo e dominação (Idem) em que o necropoder
(quem deve morrer) é quem vai definir que a culpa das mortes são dos próprios
mortos, não existindo assassino (MBEMBE, 2006).
O pelourinho não só era a materialização na concretude da cidade, a negação
do negro escravo enquanto o outro, mas como elemento simbólico de poder
entre os próprios brancos, pois a sua existência na praça principal garantia o
status de vila ou cidade. [...] Somente vilas e cidades poderiam ter o pelourinho
na praça pública. [...] Assim, além de representar repressão aos escravos, sua
existência na praça principal ratificava a presença inconteste de uma adminis-
tração municipal. (SILVA, 2006: 31)
miolo_geografia_UFF.indd 93 30/01/17 17:16
94 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
As cidades brasileiras nascem para exterminar os negros enquanto sujeitos de
direitos. O arranjo espacial das cidades no período colonial tinha o pelourinho
como estrutura ordenadora do Estado ativada, em certos momentos, para afir-
mação de uma ordem espacial racialmente hierárquica. Essa estrutura tem sido
restituída nas cidades brasileiras actuais63.
Concretamente, a segregação socioespacial pode ser vista nas cidades coloniais
através da existência de cafuas, quilombos, pelouro e capela de negros. Estes
territórios dentro do espaço urbano expressaram concretamente uma organi-
zação espacial “adequada aos anseios contraditórios dos colonizadores que, por
um lado, não prezavam a presença dos dominados e, pelo outro, não podiam
prescindir dos mesmos”64.
Assim, mesmo sendo a base de todo o funcionamento da cidade, o escravo não
era motivo de preocupação de quem se beneficiava de seus serviços, transfor-
mando os territórios da cidade em espaços segregados onde a repressão, cujo o
símbolo maior estava localizado na praça principal, convertendo-se no principal
instrumento de manutenção da ordem social/espacial. (SILVA, 2006, p. 31-32)
O “meu senhor” na fala do jovem preso ao poste no bairro do Flamengo (RJ)
apresentada por Martins (op. cit.) revela que o racismo se articula à lógica do
favor, pois o negro “sempre tenha que pedir para acessar, usar ou se apropriar de
determinado lugar e/ou escala de poder e decisão. [...] a consciência e o conheci-
mento sobre esse campo que racializa o acesso, o uso e a apropriação de espaços
e escalas o auxilia na construção de novas perspectivas de futuro” (OLIVEIRA,
2011, p. 221/222)65. Cria-se uma geografia de privilégios elitizados e racializados
no uso e na apropriação dos espaços66. Espera-se que pobres e negros tenham dois
63 “actual, es decir, algo de otro tiempo que actúa aquí y ahora, a partir de nuevas circunstancias” (PORTO-
-GONÇALVES, 2001, p. 125).
64 LANNA, A. L. D. Cidade colonial, cidade moderna no Brasil: pontos e contrapontos. In. Anais do IV
Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. RJ: UFRJ,1996, p. 496.
65 Outra situação colonial que emerge são as marcas nas casas que serão removidas. Remonta-se aí “[...] ao
autoritarismo do curioso “PR” de “Príncipe-Regente” ou “Ponha-se na Rua” no Rio de Janeiro colonial”
(FAULHABER; NACIF, 2013, p. 12).
66 Essa geografia de privilégios elitizados e racializados no seu limite afirma a eliminação. O genocídio da po-
pulação negra se expressa nas mortes por autos de resistência de ditos policiais, o crescimento de skinheads
e justiceiros. Esses grupos apelam para punições que não são sancionadas por instituições legais e nem
dependem destas para dar legitimidade a suas ações. Recentemente (dia 4 de fevereiro de 2014) várias de-
miolo_geografia_UFF.indd 94 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 95
destinos: 1- assumam “condutas de dependentes” (FANON, 2008), isto é, posi-
ções subalternas e subservientes; 2- a comprovação de sua indignidade.
Os racistas americanos [e também brasileiros] e os colonos franceses desejam
também que o negro se mostre gatuno, preguiçoso, mentiroso: com isso prova
sua indignidade, põe o direito do lado dos opressores; se se obstina em ser hones-
to, leal, olham-no como um revoltado. Os defeitos da mulher [e dos negros, es-
pecialmente os pobres] exageram-se, pois, tanto mais quanto ela tenta não com-
batê-los mas, ao contrário, faz deles um adorno. (BEAVOUIR, 1967, p. 381)
A comprovação da indignidade dá ao racista o complexo de autoridade (FA-
NON, 2008) e o direito de fazer morrer e deixar viver (FOUCAULT, 2005) de
forma precária, subalterna e dependente da autoridade do branco. Mortes de ne-
gros e pobres são assim naturalizadas. Apenas mais um na estatística. Indivíduos
sem histórias, identidades e relevância social. O racismo separa os grupos que de-
vem ter uma vida [e uma espacialidade] ampliada dos que merecem ser tratados
como indivíduos descartáveis [e uma espacialidade restrita], pois, em espaços de
riqueza da cidade marcados pela norma, regularidade, homogeneidade, o racismo
é condição de aceitabilidade do genocídio (Idem). Torna-se necessário novamente
um ajuste espacial (HARVEY, 2005), pois para esses justiceiros, quanto mais essa
raça inferior for eliminada, menos degenerados haverá, deixando os seus espaços
mais puros e sadios (SOUZA, 2011). O racismo pressupõe distâncias materiais e
simbólicas (no limite extermínio) (OLIVEIRA, 2011) e a produção de espacia-
lidade acabada e previamente definida para grupos racialmente inferiorizados. A
clarações da jornalista Rachel Sheherazade do SBT defendendo o linchamento e a tortura do jovem negro,
acusado de roubo, preso pelo pescoço com uma tranca de bicicleta num poste no bairro do Flamengo (RJ)
afirmando que “a atitude dos vingadores é até compreensível”. Para a âncora do tele-jornal “o contra-ataque
aos bandidos é o que chamo de legítima defesa coletiva de uma sociedade sem Estado contra um estado
de violência sem limite”. Ela continua dizendo: “Aos defensores dos direitos humanos, que se apiedaram
do marginalzinho preso ao poste, eu lanço uma campanha: faça um favor ao Brasil, adote um bandido”.
Percebemos a grande mídia como agente biopolítico e, diferentemente de Martins (1995), que cria uma
identificação explícita da elite brasileira com os justiceiros. Quanto mais degenerados e as raças inferiores
desaparecerem, mas a espécies superiores crescerão fortes, vigorosos e proliferarão (FOUCAULT, 2005).
Um discurso fascista “em defesa da sociedade” racista e elitista (Idem), que define um coeficiente negativo
para a vítima e positivo para o agressor (MEMMI, 2010). Esse genocídio cria uma geocronobiopolítica
urbana, isto é, momentos do dia, especialmente à noite, em locais escuros e/ou com iluminação precária,
em que negros são postos como potenciais criminosos se estiverem circulando por determinados espaços da
cidade à noite, é mais larga e perigosa.
miolo_geografia_UFF.indd 95 30/01/17 17:16
96 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
rotulação de negro como signo de pobreza e de ladrão busca estabelecer um “com-
plexo de autoridade” aos agressores e “complexo de inferioridade e dependência”
das vítimas (FANON, 2008) legitimada por segmentos da mídia. As representa-
ções inculcadas pelos agressores revelam, contraditoriamente, habitus racistas que
estabelecem relacionamento com outras hierarquias, classistas, sexistas, discrimi-
nadores pela origem geográfica, fornecendo o quadro de mediação entre sujeitos
marcados por mecanismos perceptivos de extermínio do outro (SODRÉ, 1992)
através dos linchamentos e da política de in-segurança. Essas formas de gestão ra-
cista do espaço se revelam tanto por instituições responsáveis pela regulação jurídi-
co-política do território como o Estado quanto por outros agentes. Tais ações rea-
firmam tanto discriminações diretas e intencionais quanto as indiretas. Nos EUA a
discriminação indireta, conhecida como discriminação por impacto desproporcional
adverso, possui jurisprudência, revelando que mesmo ações não intencionais, apa-
rentemente neutras, porém dotadas de grande potencial discriminatório, resultam
em efeitos nocivos e desproporcionais para grupos historicamente discriminados.
Na cidade do Rio de Janeiro identificamos pelo menos três grupos responsá-
veis pela gestão racista da cidade tanto por ações intencionalmente racistas quanto
as que se colocam como neutras mas com um grande potencial discriminatório.
São eles: os capitalistas raciais, os protagonistas do racismo ambiental e as UPPs67.
Os capitalistas raciais68
Entendemos por capitalistas raciais os agentes modeladores do espaço urbano
que instituem uma organização e uma distribuição do espaço que concedem pri-
vilégios a determinados grupos raciais de status social posto como superior. Cas-
tro-Gómez (2009) aponta que “dificilmente podríamos hablar de uma burguesía
‘moderna’ – en el sentido europeu del término – sino, más bien, de uma burguesía
moderno-colonial”.
Os capitalistas raciais são uma multiplicidade de agentes (do marketing e da
publicidade a industriais e promotores imobiliários) que transitam pela zona do
ser (GROSFOGUEL, 2011; 2014). O papel deste não é novo na estruturação
das cidades brasileiras. Tradicionalmente se constituíram a partir de tecnologias
biopolíticas na produção do espaço (Idem).
67 Esse grupo é bastante ampliado. Apresentamos apenas esses três para uma reflexão mais aprofundada.
68 Termo inspirado em Robinson apud Grosfoguel (2013).
miolo_geografia_UFF.indd 96 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 97
No Rio de Janeiro moderno-colonial no início do século XX, o Estado usava
das heranças coloniais na medicina social e da higiene pública como definidores
de práticas espaciais que serviam aos interesses da burguesia moderno-colonial
(NETO, 2008; CASTRO-GÓMEZ, 2009). O poder medical atribui autoridade
política ao médico para que possa regular a vida no meio urbano.69 Produziram
formas coloniais de exploração da terra e da mão de obra urbana (CASTRO-
-GÓMEZ, 2009), assim como formas coloniais de opressões nos usos dos bens
socioespacialmente produzidos. No atual contexto do Rio de Janeiro, os capita-
listas urbanos, conjuntamente com o Estado, expressam novas formas de gerir
racialmente a cidade através da mercantilização do espaço urbano, a especulação
imobiliária e obras de renovação e revitalização de pontos estratégicos no Rio de
Janeiro para atrair o consumido mais-que-perfeito (o turismo internacional de
alto poder aquisitivo). O alvo principal dos capitalistas raciais é a propriedade,
historicamente como privilégio de brancos (CAMPOS, 2012). Assim, as favelas
(espaços onde a maioria dos seus moradores não tem o título de propriedade)
viram o alvo destes capitalistas raciais, especialmente as favelas em espaços-vi-
trines para o turismo e o marketing urbano. Em algumas favelas da Zona Sul do
Rio de Janeiro, a área considerada nobre, o poder municipal (o prefeito Eduardo
Paes) em consonância com o governo estadual (Sérgio Cabral), em 2009, criou
o “ecolimites”, que são muros de concreto com extensão aproximada de 15km e
com três metros de altura no entorno de 13 favelas, que “supostamente estariam
avançando sobre a Mata Atlântica”. Segundo Fernandes Júnior (2012, p. 75):
69 No final do século XIX e no início do XX no Rio de Janeiro, o poder medical atribuía autoridade aos
médicos sanitaristas na configuração do urbano e a eliminação dos espaços insalubres. No atual contexto
do planejamento estratégico e do city-marketing, o poder medical passa a assumir autoridade política na
configuração do meio urbano através da higienização da paisagem de grupos postos como anormais e dro-
gadictos que perdem o controle sobre os seus corpos e criam cracolândias em itinerários turísticos e/ou em
espaços-vitrines. O exercício do poder medical tem uma dimensão geopolítica, pois cabe ao Estado elimina
este mal-estar, especialmente das paisagens emblemáticas do marketing urbano. Os espaços/paisagens que
não são vitrines não serão alvo do exercício do poder medical. Aí o poder medical é banhado pelo imaginário
colonial, pois retira o estatuto de humanidade destas populações ao serem abordados como animais pela
lógica de in-segurança. A interdição, tanto a compulsória quanto a consentida, é um mecanismo de poder
que visa eliminar do campo visual da paisagem os indesejados. O combate às cracolândias, nestas políticas,
nunca foi apontado como uma questão de saúde pública, pois a medicina nesta lógica não é vista como
prática de socorro, e sim como uma tecnologia de poder e controle populacional sobre a vida administrada
pelo Estado e a burguesia moderno-colonial (GROSFOGUEL, 2009; 2010).
miolo_geografia_UFF.indd 97 30/01/17 17:16
98 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Das 13 favelas que compõem a lista do governo, 11 ficam na Zona Sul da ci-
dade: Pavão-Pavãozinho, Ladeira dos Tabajaras, Chapéu Mangueira, Rocinha,
Vidigal, Santa Marta e outras. Segundo Freixo (2011) as favelas da Zona Sul
apontadas no projeto possuem percentuais de expansão horizontal inferior ao
total de crescimento das áreas de favelas do Estado. A favela Santa Marta, por
exemplo, decresceu em 0,78%.
Além da expansão de favelas da Zona Sul não chegarem à metade do aferido na
Zona Oeste, de 11,5% (dado do Instituto Pereira Passos). Informando ainda
que as maiores partes das áreas ocupadas irregularmente nas encostas corres-
pondem a construções das camadas mais abastadas, e não de favelas. Outro
dado do Instituto Pereira Passos – IPP […] diz respeito às ocupações em área
de preservação ambiental. De acordo com pesquisadores do IPP, 69,7% das
áreas construídas acima de 100m de altitude no município do Rio de Janeiro,
ocupando áreas de morros e, em alguns casos, florestas, estão ocupadas pelas
classes média e alta. Apenas 30% destas áreas são de favelas (Observatório de
Favelas. Muro nas favelas. Editorial, 2009)70.
Enquanto o governo do Estado inaugurava o projeto de “Ecolimites” nas fave-
las, a Prefeitura do Rio anunciava as “Barreiras Acústicas” nas linhas amarela e
vermelha. Segundo Freixo (2011) se o discurso ecológico serviu de argumento
para a demarcação das favelas da Zona Sul, o “problema do barulho” foi o que
legitimou o anúncio oficial dos muros chamados de “Barreiras Acústicas” que
se estendem por cerca de 7,6 quilômetros, em 200 módulos de 38 metros de
comprimento por três de altura nas vias expressas que conectam o aeroporto
internacional aos corredores turísticos cariocas.
Os “ecolimites” e as “barreiras acústicas” revelam respectivamente um discurso
da (bio)segurança e saúde pública que, em nome dos riscos ecológicos e proteção
do barulho, dissimula a preocupação dos capitalistas raciais na propriedade da
terra de alto valor em áreas marcadas por amenidades naturais e nos itinerários re-
gulados e paisagens camufladas para o turismo. Ademais, rotula a população mais
pobre como destruidora de áreas de mata, silenciando que casas e condomínios
fechados de alto padrão econômico estão localizados nas mesmas áreas e não são
alvos dos “ecolimites”.
70 Mas informações disponíveis em: <http://www.observatoriodefavelas.org.br/observatoriode favelas/ noti-
cias/ mostraNoticia. php?id_content=517.> Acesso em: 28 de abril de 2012.
miolo_geografia_UFF.indd 98 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 99
A implementação das Unidades de Polícia Pacificadora – UPPs, as obras de
infraestrutura urbanas para a Copa do Mundo e Olimpíadas surgiram jun-
tamente como retorno do discurso das políticas de remoções que reaparecem
sob a forma de condenação de áreas de risco; a instalações de muros cercan-
do as favelas, os chamados “Ecolimites” com justificativa ecológica; além das
“Barreiras Acústicas”, com o discurso e o isolamento contra o barulho dos
carros paras as comunidades ao entorno. Essas políticas em nosso entender
são complementares e acentuam o processo de segregação espacial da cidade,
favorecendo grupos hegemônicos que se beneficiaram das ações do Estado.
(FERNANDES JÚNIOR, 2012, p. 73)
Os capitalistas raciais têm promovido espoliações de espaços da cultura afro-
descendente. Assim, as comunidades de terreiro nas grandes cidades sofrem por
um duplo processo. Primeiro pela intolerância religiosa que destrói espaços litúr-
gicos e discrimina os seus adeptos com suas roupas características em seus itinerá-
rios. O segundo processo que passa pelas comunidades de terreiro está diretamen-
te ligado aos capitalistas raciais por ter como matriz de sua configuração espacial
áreas verdes, e o mercado imobiliário tem pressionado pela desconfiguração dessas
comunidades em espaços-vitrines da cidade, além de contribuir para a aceleração
de processos de periferização dos locais de culto da religião afro-brasileira (PI-
RES, 2012). Indiretamente o fundamentalismo religioso de base cristã-evangélica
acaba servindo aos capitalistas raciais. Isto é, a antiga coalizão moderno-colonial
entre burguesia e igreja.
Como os capitalistas raciais têm escalas distintas de atuação, devido à sua
estratégia de planejamento e ao seu poderio econômico, agem de forma dife-
renciada em diferentes lugares do mundo. No Brasil, devido à ambiguidade da
legislação antirracismo que exige que o racismo seja intencional e que se limita
aos tipos de racismo mais ostensivo, muitas empresas que promovem injustiças
ambientais racialmente caracterizadas em vários países sendo processadas veem o
Brasil como um mercado promissor.
Racismo ambiental
O conceito de racismo ambiental nasceu de lutas das populações negras nos
EUA no final da década de 1970 contra as injustiças ambientais que sofriam
precarizando os seus espaços vividos. Essa população estavam sendo alvo de injus-
miolo_geografia_UFF.indd 99 30/01/17 17:16
100 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
tiças ambientais que através do racismo selecionava as áreas das populações vul-
nerabilizadas (negros, imigrantes, pobres, ...) para o despejo de resíduos tóxicos
(HERCULANO, 2008). Dessa forma, o debate sobre racismo ambiental nasce
do colonialismo interno nas áreas centrais do capitalismo71. Por serem grupos da
zona do não ser alvos da opressão racial (GROSFOGUEL, 2013), as áreas onde
viviam eram postas como zonas de sacrifício dos grandes centros que produziam
um processo de acumulação via espoliação dos grupos historicamente subalterni-
zados (HARVEY, 2005). O racismo ambiental é a expressão de uma ajuste espa-
cial que absorve o excedente de mão de obra com empreendimentos desprezados
pelos grupos das áreas privilegiadas por serem poluidores e/ou com alto grau de
risco ambiental que deixa um rastro de devastação (Idem). Compreendemos o
racismo ambiental como a expressão do imaginário colonial na ação do Estado e
de empresas que vulnerabiliza ainda mais grupos historicamente invisibilizados e
subalternizados. Assim, compreendemos que uma gestão necropolítica do espaço
é criada e se utiliza do racismo de Estado e de instituições empresariais no alo-
camento dos despejos industriais. Não há mais-valia sem gente de menos-valia.
No atual contexto do city-marketing o racismo ambiental tem intensificado
as zonas de sacrifício com atração de megaempreendimentos. As áreas habitadas
pelos mais pobres, negros, pescadores, quilombolas em várias partes do estado
têm se tornado essas zonas de sacrifício. Porém, os ditos benefícios têm privi-
legiado uma pequena elite e intensificado o padrão de cidade-mercadoria e de
conflitos. As parcerias público-privadas criadas para atrair empregos, arrecadação
de impostos e aumento do dinamismo das economias locais têm criado uma ge-
ografia dos proveitos e rejeitos (PORTO-GONÇALVES, 2006) em que os rejeitos
são impostos às populações mais pobres e negras e os proveitos são exportados e/
ou são apropriados pelos grupos dominantes72.
71 Devo essas considerações ao professor Valter do Carmo Cruz e ao debate no seu núcleo de estudos – NETA-
J-UFF (Núcleo de Estudos sobre Território, Ações Coletivas e Justiça da Universidade Federal Fluminense).
Todo e qualquer equívoco analítico é de minha responsabilidade.
72 O neoliberalismo como projeto civilizatório (LANDER, 2000) forjou-se com o discurso de criação de
áreas mais competitivas. Áreas mais competitivas são: as que têm ausência e/ou pouca eficácia de legislações
trabalhistas, ambientais, o exercício biopolítico do racismo de Estado que garanta segurança para o capital
e as melhores áreas para os seus rejeitos, altíssima taxa de mais-valia sobre pessoas de menos-valia.
miolo_geografia_UFF.indd 100 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 101
A cidade desigual é também problematizada por movimentos de justiça am-
biental e de denúncia de racismo ambiental, constituindo redes de questio-
namento das políticas fundiárias e ambientais, em defesa do igual acesso à
proteção ambiental e aos recursos urbanos como direito de todos os citadinos,
seja em termos de nível de renda ou de origem étnica. Movimentos contra a
ambientalização da exclusão denunciam a evocação de argumentos ambientais
para legitimar remoções de populações faveladas que, por sua vez, nunca foram
atendidas em seu direito à moradia, dada a ausência histórica de políticas pú-
blicas habitacionais adequadas. (ACSELRAD, 2013, p. 243-244)
A despolitização da política urbana e a reprodução das injustiças socioam-
bientais pelos megaempreendimentos protegidos pelos agentes da in-segurança
pública e privada reproduzem o racismo institucional ao roubar o valor, a indivi-
dualidade e engendrar fascismos sociais aos grupos historicamente considerados
de menos valor social.
[…] é o fascismo paraestatal: a usurpação de prerrogativas estatais (de coer-
ção e de regulação social) por atores sociais muito poderosos, que, escapando
a todo controle democrático, neutralizam ou suplementam o controle social
produzido pelo Estado. Ele tem duas vertentes principais: o fascismo contra-
tual e o territorial.
O contratual ocorre nas situações em que a diferença de poder entre as partes
no contrato de direito civil é tal que a mais fraca, vulnerabilizada por não ter
alternativas, aceita as condições impostas pela parte mais poderosa, por mais
onerosas e despóticas que sejam.
O projeto neoliberal de tornar o contrato de trabalho um contrato de direi-
to civil como qualquer outro configura situação de fascismo contratual. Este
ocorre frequentemente em situações de privatização dos serviços públicos, na
qual se tornam extracontratuais aspectos decisivos da produção dos serviços.
Na medida em que o extracontratual é submetido a controle democrático, o
Estado democrático torna-se conivente com o fascismo paraestatal.
O fascismo territorial existe sempre que atores sociais com forte capital patri-
monial retiram do Estado o controle do território onde atuam ou o neutrali-
zam, cooptando ou violentando instituições estatais e exercendo a regulação
social sobre os habitantes sem a participação destes e contra seus interesses. São
territórios coloniais privados em Estados quase sempre pós-coloniais.
miolo_geografia_UFF.indd 101 30/01/17 17:16
102 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
A terceira forma é o fascismo da insegurança: a manipulação discricionária
da insegurança de pessoas e grupos sociais vulnerabilizados por precariedade
do trabalho, doenças ou outros problemas, produzindo-lhes elevada ansiedade
quanto ao presente e ao futuro, de modo a baixar o horizonte de expectativas
e criar a disponibilidade para suportar grandes encargos, com redução mínima
de riscos e da insegurança. (SANTOS, 2010)
Não importa para os agentes protagonistas do racismo ambiental quem estão
atingindo, pois ali não vão morar e nem os seus pares. Estes transitam pela zona
do ser. As áreas providas com amenidades tornam-se bens oligárquicos (PORTO-
-GONÇALVES, 2006) sob a hegemonia econômica e racial branca. A gestão ra-
cista do urbano empurra fábricas poluidoras para áreas pobres de maioria negra73,
blindando os privilégios dos segmentos hegemônicos da sociedade historicamente
acumulados. Logo, as escalas dos privilégios raciais são mais amplas. Nas práticas
de racismo ambiental o espaço é um fator (SANTOS, 1978) na reprodução dos
capitalistas raciais.
Branqueamento das paisagens e dos eventos culturais nas UPPs
A atual política de in-segurança pública do governo estadual do Rio de Janeiro
que tem as Unidades de Polícias Pacificadores (UPPs) como sua principal prática
espacial inaugurou algo inédito no planejamento urbano brasileiro, a pacificação
(PACHECO DE OLIVEIRA, 2014). A pacificação é uma categoria administra-
tiva de natureza político-militar, usada na temática indígena no contexto colo-
nial (isto é, o poder pastoral usado para o governo das almas que estavam sendo
evangelizadas), que passou a ser utilizada pela primeira vez nas ações de segurança
73 No bairro de Santa Cruz (cidade do Rio de Janeiro) a fábrica gerida pelo empresário Eike Batista, lou-
vado investidor do marketing urbano, tem lançado poeira metálica na atmosfera e atingido toda a região.
Isto é, destruindo as condições materiais e simbólicas de existência naquela localidade. Estabelece aí um
colonialismo interno na zona do não ser produzindo e intensificando a precarização territorial de uma área
majoritariamente habitada por uma população pobre e negra.
As fábricas que historicamente foram utilizadas como símbolos da modernidade pela burguesia ocultaram,
deliberadamente, a colonialidade. A burguesia moderno-colonial silenciava e ainda hoje silencia a distribui-
ção racial do capital, do trabalho e dos poluentes (CASTRO-GÓMEZ, 2009) e as consequências na vida
e na saúde humana. Nos espaços que não são vitrines, o Estado não aciona poder medical para questionar
esse arranjo espacial das relações raciais que tem criado injustiças ambientais, como o caso da fábrica TKSA,
pois é regido por imaginário colonial que invisibiliza e produz não existências de grupos historicamente
subalternizados (NETO, 2008; OLIVEIRA, 2011; CASTRO-GÓMEZ, 2009; SANTOS, 2004).
miolo_geografia_UFF.indd 102 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 103
pública urbana (Idem). Ou seja, um governo biopolítico usado sobre a população
originária marcada por processos de desterritorialização dos hábitos e da cultura e
reterritorização em ambientes controlados (GROSFOGUEL, 2010). O imaginá-
rio colonial a partir do dispositivo da brancura é restituído pelo governo estadual
do Rio de Janeiro.
Marcada por um imaginário colonial, a pacificação historicamente refletiu so-
mente o ponto de vista dos colonizadores, ou seja, uma categoria estrangeira, as
favelas. Ela nada apontou e aponta como ocorreu a recepção e utilização de tal
ordenamento pelos autóctones. Logo, ela busca demarcar momentos cruciais e
distintos da história de um segmento da sociedade, ou seja, um marco zero com a
ideia de “pré” pacificação e “pós” pacificação para o olhar “dos de fora” (PACHE-
CO DE OLIVEIRA, 2014; MALDONADO-TORRES, 2008). Colonizar tinha
como meta pacificar os colonizados. Pacificar era sinônimo de evangelização/ci-
vilizar. Logo, no período do colonialismo brasileiro pacificar significava impor
um modo de dominação marcado indiretamente com a ideia de exclusão e tutela.
A partir do período republicano pacificar passou a significar mais diretamente
tutelar. Contudo, essa perspectiva é marcada por um paradoxo, pois tutela é uma
forma de dominação marcada tanto pela proteção quanto pela repressão, que
podem ser acionadas alternadamente ou de forma combinada segundo diferentes
contextos e distintos interlocutores (PACHECO DE OLIVEIRA, 2014). Assim,
“[...] as ‘pacificações foram fundamentais para insular os indígenas em pequenas
faixas de terras, liberando paralelamente vastos espaços para serem apropriados
por interesses privados” (Idem: 137). Não vemos muito diferente hoje. As áreas
pacificadas hoje tiveram vultosos aumentos do valor da terra, assegurando a mo-
dalidade extensiva e predatória do capitalismo (Idem).
Assim, a categoria pacificação atravessou cinco séculos da história brasileira
mergulhada num imaginário colonial que busca instituir uma ordem socioespacial
contra seres indesejados e desordeiros e usurpar suas terras. Quando essa ideia
passou a ser oficialmente retomada pela política de in-segurança do atual governo
do estado do Rio de Janeiro (Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão) nas fave-
las centrais para o marketing urbano, outras situações coloniais foram restituídas
(FANON, 2008). Logo,
Ao que visam as “ações pacificadoras” no contexto atual do Rio de Janeiro? A
resposta parece simples – objetivam restaurar o controle estatal (leia-se mili-
miolo_geografia_UFF.indd 103 30/01/17 17:16
104 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
tar) sobre as favelas ocupadas pelo tráfico74. Há aqui uma clara analogia com
as “pacificações” coloniais, dirigidas contra as aldeias dos autóctones que não
se submetiam voluntariamente às autoridades administrativas e religiosas da
época. Uma metáfora de natureza terapêutica poderia ser lembrada para pensar
as ações “pacificadoras”, equiparando-as a remover um tumor maligno, que
afetaria o próprio corpo social. Mas tal metáfora não seria aplicável, pois ine-
xiste o registro tanto de uma clara convergência entre médico e paciente no
processo terapêutico quanto de um antagonismo entre o doente e os agentes
portadores da doença.
Os executores da política de segurança e os policiais em geral imaginam os
morros usualmente como “o espaço do inimigo”. Os habitantes das favelas, à
diferença dos demais cidadãos, são vistos como colaboradores em relação ao
seu próprio mal, portadores de uma permissividade ou insuficiência moral que
não os distingue suficientemente do crime organizado. [...] há uma perversa e
perigosa ambiguidade no tratamento dado aos moradores, algumas vezes tidos
como “reféns” dos traficantes, mas em muitas outras ocasiões tratados como
seus “cúmplices” (LEITE, 2012, p. 379) ou mesmo como seus parceiros. Lon-
ge de ser um mero executor das leis, o policial, no processo de “pacificação”,
ostenta uma superioridade moral e uma ilimitada capacidade de punir que o
faz se imaginar como um verdadeiro anjo vingador.
Tal como no caso dos indígenas nos aldeamentos missionários, é necessário que
os tutores imponham aos tutelados uma moralidade (da qual pretensamente es-
tariam desprovidos) com a qual eles possam afinal resistir às investidas sedutoras
do demônio. Esta pedagogia colonial, religiosa e que se serve de meios aberta-
mente repressivos é aplicada [...]. A “comunidade pacificada”, na visão dos pla-
nejadores e nas representações da mídia, não é só aquela onde se desenrolou uma
ação militar para desalojar o controle do crime organizado, mas aquela em que os
moradores e as condições de vida teriam passado por uma modificação completa,
fruto de uma ação supostamente de natureza civilizatória.75
O uso da categoria “pacificação” na contemporaneidade para referir-se à inter-
venção dos poderes públicos nas favelas, antes áreas que virtualmente escapa-
vam ao seu domínio, recupera a retórica da missão civilizatória da elite diri-
74 “A ideia é simples. Recuperar para o Estado territórios empobrecidos e dominados por grupos criminosos
armados. Tais grupos, na disputa de espaço com seus rivais, entraram numa corrida armamentista nas úl-
timas décadas [...] Decidimos então pôr em prática uma nova ferramenta para acabar com os confrontos”
(José Mariano Beltrame – Coluna “Palavra do Secretário”, de 10/9/2009. Disponível em: http://upprj.
com/wp/?p=175).
75 Vide as análises realizadas por Machado da Silva, Leite e Fridman (2005).
miolo_geografia_UFF.indd 104 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 105
gente e dos agentes do Estado. “Pacificação e civilização são faces distintas de
um mesmo processo, que tiveram/têm como finalidade a perda de autonomia
e a introdução de dependências da coletividade indígena em relação a bens e
serviços sob controle exterior, tornando-as sujeitas ao exercício de um mandato
tutelar” (PACHECO DE OLIVEIRA, 2010, p. 31).
Este é um ponto de continuidade entre a ação colonial e o Brasil contempo-
râneo, e a razão para isso é evidente – porque a alteridade no contexto urbano
atual é dramatizada ao extremo e ela não comporta uma origem comum nem
mesmo alguma forma de partilha. O “outro” contemporâneo é imaginado des-
sa forma como tão diferente e externo aos “nossos” usos e costumes, tão im-
previsível e perigoso quanto era pensado pelos missionários e pelas autoridades
coloniais o “índio bravo”. (PACHECO DE OLIVEIRA, 2014, p. 138-139)
Assim, a mudança na soberania nas áreas que antes eram dominadas pelos
narcotraficantes pelo domínio militar do Estado não tem significado eliminação
dos problemas sociais, muito pelo contrário. Inúmeros relatos e várias manifes-
tações populares em favelas de UPPs afirmam a presença de policias corruptos,
autoritários, torturadores que praticam assassinatos e ocultamento de corpos, es-
pecialmente nas áreas com pouca circulação e iluminação. Ou seja, “o vínculo
secreto entre [a nova] soberania e exceção viabiliza a ação dos governos absolu-
tamente independente de toda regra jurídica” (AGUIAR, 2012, p. 143). Desta
forma, as UPPs têm revelado um novo totalitarismo nos espaços de favela. As
UPPs são espaços militarizados e funcionam como espaços de exceção à legisla-
ção vigente. A instituição Estado, no Rio de Janeiro (com grande probabilidade
em todo o território nacional), funciona sobre as bases do biopoder, logo, sua
função homicida somente pode ser assegurada pelo racismo (Idem). O racismo
de Estado tem importância vital na gestão de territórios e populações, pois repre-
senta a condição com a qual a polícia pode exercer o direito de matar, humilhar,
sequestrar, torturar e amedrontar sem que isso seja considerado crime (Ibidem).
As instituições de in-segurança têm banalizado a morte e o mal no cotidiano dos
espaços pobres (ARENDT, 1999). O estado de exceção tornou-se na história
brasileira a norma para grupos subalternizados posicionados na zona do não ser
(GROSFOGUEL, 2011; 2014). Devido ao fato de que as favelas e as periferias
sociais urbanas historicamente terem se constituído como espaços de pouca e/
ou precária iluminação pública, o exercício biopolítico tem se tornado mais ex-
miolo_geografia_UFF.indd 105 30/01/17 17:16
106 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
plícito e violento nestes espaços e contextos (FOUCAULT, 2005). Lembremos
que desde a Idade Média na Europa a ausência de luz representava o símbolo da
maldade tanto para ambientes quanto para pessoas de pele escura, sendo assim es-
tigmatizados. Logo, com a modernidade, este princípio será restituído nos corpos
e ambientes coloniais tornando-se a marca da civilização destes espaços e pessoas.
A iluminação pública, símbolo da modernidade urbana criada como mecanismo
técnico-científico para garantir a in-segurança, nunca eliminou o medo branco da
onda negra nos usos dos espaços na noite das cidades76. O Estado e os capitalistas
raciais, através das suas instituições de in-segurança, assumem o direito de matar
para reduzir o sentimento de desamparo nos espaços com baixa iluminação. A
ação da polícia no Rio de Janeiro, que tem as UPPs como uma de suas práticas
espaciais, tem demonstrado que elas não são tão diferentes de outras políticas de
in-segurança, pois têm revelado que nem vivos nem mortos os moradores das
favelas são sujeitos de direitos (Idem). Casos são apontados por grupos de direitos
humanos que policiais corruptos matam inocentes e alteram as cenas dos crimes
nas favelas para não serem incriminados, isto é, mesmo mortos os favelados, po-
bres, especialmente negros, não são sujeitos de direitos. Corpos são silenciados
e destituídos de humanidades. São postos como elemento cor padrão de crimes.
O discurso da pacificação é uma marca ideológica que silencia uma instituição
policial marcada por práticas racistas, espúrias e de corrupção. Pacificar não se
constitui instrumento de promoção da cidadania, como o marketing urbano di-
funde atualmente. Em verdade, a pacificação visa produzir deficientes cívicos com
o reforço do individualismo, clientelismo e da competitividade, isto é, o mundo
do “salve-se quem puder”, do “vale-tudo” (SANTOS, 2002), que agora é chama-
do de empreendedores sociais.
As UPPs, ao capitalizarem áreas que estavam descapitalizadas para o mercado
imobiliário, têm despertado intensa especulação em áreas de favelas e criado processos
76 A distribuição precarizada e desigual da iluminação pública tem criado ambientes in-seguros para os po-
bres, as mulheres e os negros. Ela é um dos vários elementos que precariza a vida desses grupos nas cidades.
Infelizmente esse não é só um exemplo brasileiro. A iluminação pública, que historicamente se constituiu
como símbolo da modernidade urbana, não eliminou o imaginário colonial acerca das mulheres e dos
negros no uso de determinados espaços em determinados momentos, o que já chamamos de geocronopolí-
tica urbana. Esse imaginário colonial que impõe normas de uso dos espaços da cidade os culpabiliza pelo
próprio estupro e/ou morte por não adotarem um comportamento de submissão para os negros e de recato
para as mulheres na sua indumentária. Esse imaginário colonial define os momentos do dia (especialmente
à noite) que negros e mulheres terão um uso do espaço ainda mais normatizado, interferindo diretamente
nas suas trajetórias.
miolo_geografia_UFF.indd 106 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 107
de segregação na favela, ou seja, espaços luminosos para os turistas internacionais e os
jovens brancos abastados e espaços opacos para os moradores mais pobres e negros77.
As UPPs têm produzido um processo de branqueamento dos seus territórios
através de processos de expropriação e de espoliação que regulam a vida dos seus
moradores e destroem as condições de existência das culturas negras em ambien-
tes de favelas. O processo de expropriação ocorre quando uma parte ou a totalidade
da população é submetida a uma migração forçada para a periferia, para locais
insalubres, para outras favelas e/ou locais de baixa infraestrutura social. Quando
estes grupos não foram ainda retirados, estão em permanente estado de ameaça
de despejo78. O branqueamento do território engendra processos de espoliação, ao
privar o acesso, o uso e a apropriação dos bens materiais e simbólicos do seu
próprio território reforçando uma sociedade de bens oligárquicos. Já o branquea-
mento da imagem e da cultura dos territórios (SANTOS, 2009) territorializados
pelas UPPs tem gerado inúmeras tensões com grupos que produzem os circuitos
espaciais da economia do funk. Um extermínio gradual desta a cultura negra via a
atração de um público consumidor branco despolitizado para consumir paisagens
das favelas voltadas para o mar altamente disputadas pelos agentes do turismo in-
ternacional e por especuladores imobiliários. A resolução 013 expressa um meca-
nismo jurídico-político de embranquecimento dos eventos culturais nas UPPs79.
77 Ademais, as áreas de UPPs e arredores “[...] estão sofrendo com um processo de ‘remoção branca’ com o
aumento do valor da terra e com a cobrança de determinadas taxas das concessionárias que os moradores
muitas vezes não têm condições de arcar” (FAULHABER; NACIF, 2013, p. 10).
78 Várias comunidades de terreiro têm sido expulsas por remoções para obras viárias e ligadas a Copa do Mun-
do e Olimpíadas. Ademais, há outro tipo de expulsão que as comunidades de terreiro têm sofrido ligada aos
chamados Soldados de Jesus, narcotraficantes que se dizem evangélicos e proíbem práticas litúrgicas ligadas
à Umbanda e ao Candomblé, reproduzindo o fascismo paraestatal falado anteriormente.
Esse fascismo paraestatal criado pelos Soldados de Jesus é uma forma de embranquecimento da cultura do
território que impede o direito à ancestralidade. Diríamos que ação religiosa orientada pelo eurocentramento de
mundo feitas pelos ditos Soldados do Jesus se torna importante para os agentes econômicos (capitalistas raciais) na
gestão racista do espaço de exceção sob a soberania do narcotráfico em áreas disputadas pelo mercado imobiliá-
rio. O crescimento deste fundamentalismo religioso frente às religiões de matriz afro revela a busca pela natura-
lização e a rotineirização do imaginário eurocentrado racista como um aspecto civilizacional fundante da nossa
sociedade como símbolo da normalidade. A gestão racista do espaço praticada pelos traficantes evangélicos é, em
verdade, uma gestão biopolítica do espaço, pois o fazer morrer e o deixar viver é um exercício de branqueamento
do território que impede qualquer manifestação religiosa afrodescendente, reafirmando o modelo civilizacional
eurocentrado como superior e único, ou seja, um racismo de extermínio. Esse direito de matar ou deixar viver
negando a sua identidade e geo-história não é visto como crime no discurso hegemônico (AGAMBEN, 2014).
79 A resolução não apenas impede de forma indireta a realização de bailes funk nas favelas ditas pacificadas,
mas também proíbe festas de aniversários que toquem música funk sem autorização do comandante da
miolo_geografia_UFF.indd 107 30/01/17 17:16
108 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
A expansão das UPPs – já são 34 na capital fluminense – tornou o funk uma
cultura excluída em seu próprio berço. Embora não haja uma restrição oficial
aos bailes, a Norma 13 cria diversas exigências impossíveis de serem cumpri-
das por pequenos promotores de eventos das favelas cariocas. E, mesmo que
elas sejam atendidas, a última palavra ainda é do comandante da Unidade de
Polícia Pacificadora. [Ou seja, a pacificação é a restituição colonial do regime
tutelar (PACHECO DE OLIVEIRA, 2014)]
“Nos causou estranhamento que a gente tivesse que pedir autorização da Po-
lícia Militar para fazer qualquer evento. Isso deixa o produtor cultural na mão
da PM, que pode até colocar mais requisitos do que está na norma”, conta o
produtor cultural Guilherme Pimentel, da Apafunk (Associação dos Profissio-
nais e Amigos do Funk).
“Por que essa insistência dos governantes em reprimir, em vez de fomentar?
Por que não se aproximam dos produtores culturais populares para ajudá-los
a trabalhar dentro da legalidade? Por que uns podem fazer eventos e outros
não?”, questiona Pimentel.
Alguns chefes de organizações criminosas foram frequentadores assíduos dos
bailes e usaram as festas para fazer apologia ao crime, inclusive desfilando com
armamentos pesados. O próprio estilo musical acabou assimilando esta situ-
ação com a vertente dos “proibidões”. Por meio da UPP, o governo do estado
tenta banir esta imagem do imaginário dos jovens das comunidades.
Só que, ao mesmo tempo, acaba proibindo uma manifestação cultural. “Como
é que a gente iria poder participar desta cidade, cara, se não fosse o funk?”,
questiona MC Leonardo, presidente da Apafunk (CARPES, 2013).
O regime tutelar criado com a pacificação anula toda ação ou expressão públi-
ca do tutelado, isto é, o morador da favela produtor cultural de funk é destituído
de poder criar seus espaços. Desta forma, escamoteia
UPP. Ou seja, superioridade moral do pacificador no exercício do poder soberano (PACHECO DE OLI-
VEIRA, 2014). O jornalista Hanier Ferrer afirma: “A PMERJ também tem o poder totalmente autoritário
de mudar de ideia, caso tenha permitido a realização de algum evento e, no dia, avisar que não será mais
possível a realização do mesmo – caso que aconteceu certa vez na realização de um evento no Borel” (p. 5).
Esta resolução cria condicionamentos na produção/uso cultural dos espaços de favela de UPP: 1- Aviso
com 20 dias de antecedência às autoridades; 2- Delimitação de áreas de estacionamento; 3- Instalação de
geradores para caso de blecaute; 4- Instalação de câmeras de segurança; 5- Instalação de detector de metais;
6- Atendimento médico emergencial; 7- Autorização do comando da UPP.
miolo_geografia_UFF.indd 108 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 109
[...] por completo qualquer iniciativa (agency) que não seja subscrita pelo seu
tutor. Suas estratégias e táticas não serão inscritas na história, suas imagens e
narrativas lhe foram tomadas, sendo-lhe negada sistematicamente e por prin-
cípio a permissão e até a possibilidade de falar.80
Os planos de ação são estabelecidos e executados pelo tutor (ou por outros
por ele delegados) sem qualquer participação ativa nem a possibilidade de sua
interferência nos métodos ou nos objetivos. Assim, embora os programas go-
vernamentais muitas vezes definam metas a serem cumpridas e benefícios a
serem recebidos pelas populações tuteladas, na realidade o que é fielmente
executado são as ações repressivas e de controle, em geral de interesse de ter-
ceiros, as demais raramente saindo do papel. (PACHECO DE OLIVEIRA,
2014, p. 145-146)
Vemos que a norma 13 estabelecida pelo governo estadual na gestão dos terri-
tórios das UPPs, uma das bases da pacificação, tem promovido um uso regulado
da produção cultural popular. Entendemos, inspirados em Fanon (2008), que o
objetivo procurado não é somente o desaparecimento total da cultura preexis-
tente e destruição do sistema de referência, mas uma agonia continuada que é
“aprisionada no estatuto colonial, estrangulada pela carga da opressão” (Idem)
que destrói o mais profundo da existência do ser, a sua cultura e os meios e a razão
de existência (Ibidem). O processo de branqueamento reifica a cultura da favela
despolitizando sua origem, usos e sentidos.
Na lacuna deixada pelo funk, a classe média carioca passou a promover suas
próprias festas nos morros, o que divide a população local.
Pela questão da segurança, Santa Marta e Vidigal, favelas da Zona Sul que
têm UPPs consolidadas há anos, são os principais locais destas festas. O morro
encravado no tradicional bairro de Botafogo conta com uma quadra da escola
de samba Mocidade Unida do Santa Marta. Ela foi arrendada a um produtor
que ainda não tem alvará para a realização de eventos. Mas, com a aprovação
da Polícia Militar, ocorre ali pelo menos uma festa por fim de semana.
No sábado (5) [de outubro de 2013], se realizou na quadra um festival que
pretendia unir artes, gastronomia e samba. No site do evento há a intenção de
“valorizar a comunidade, seus artistas e comerciantes”. Mas o ingresso custava
80 Vide as reflexões sobre a anulação da voz e da própria agência dos colonizados e subalternos desenvolvidas
por Said (1984); Goody (2008); De Certeau (2010); Spivak (2010).
miolo_geografia_UFF.indd 109 30/01/17 17:16
110 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
R$ 50. Proibitivo para os padrões dos moradores, assim como festas de rock,
música eletrônica, jazz e outros estilos que alteram a cultura do morro carioca.
“Isso está deixando a comunidade muito revoltada. Porque a gente não tem
condição de pagar cem paus numa festa. E, se a gente toca um funk, a polícia já
vem com uma postura toda enviesada, enquanto as outras festas estão rolando
soltas sem nenhum problema”, afirma Thiago Firmino, guia de turismo e DJ,
morador do Santa Marta. (CARPES, 2013)
Festas para a classe média branca da zona do ser como símbolo de uma morali-
dade que os pobres não têm passam a ser realizadas nas UPPs em substituição aos
tradicionais bailes funk, usurpando a cultura negra funkeira. A gastronomia ca-
rioca, que historicamente foi formada por mulheres mais velhas negras, migran-
tes e pobres, é substituída por um padrão eurocentrado de homens brancos nos
espaços de favelas com UPPs. Uma racionalização da cultura através de uma visão
elitista, machista e racista. Esses eventos têm mudado os significados das festas
locais ao: 1- mudar a composição econômica dos participantes com ingressos que
impedem que os moradores possam frequentar esses espaços; 2- transformação na
composição racial dos participantes das festas ao impedir os moradores, em sua
maioria negros, de ter direito a lazer e entretenimento na proximidade de suas re-
sidências; 3- despotização/espetacularização da cultura negra ao servir de cenário
das festas com imagens de personagens do samba; 4- embranquecimento do jazz
e do blues como algo cult para as favelas.
Como é que a usurpação pode tentar passar por legitimidade? Dois procedi-
mentos parecem possíveis: demonstrar os méritos eminentes do usurpador, tão
eminentes que pendem uma recompensa como essa; ou insistir nos deméritos
do usurpado, tão profundos que só podem suscitar uma desgraça como essa.
Esses dois esforços são de fato inseparáveis. A inquietação do usurpador, sua
sede de justificação, exige dele, ao mesmo tempo, que se autoeleve às nuvens e
que afunde o usurpado para baixo da terra. (MEMMI, 2007, p. 90)
Essa prática de usurpação da cultura, usada especialmente nas festas de grande
escala como o Carnaval, especialmente na Bahia e no Rio de Janeiro (agora tam-
bém com o funk) é posto ideologicamente como integração da favela com o asfalto.
miolo_geografia_UFF.indd 110 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 111
IV. Considerações finais
Nosso objetivo foi apresentar uma proposta que possibilite compreender
com mais profundidade o projeto de dominação, suas contradições, as resistên-
cias e outros protagonistas. Percebemos uma lógica de poder necropolítica difusa
que não se reduz ao Estado e que tem engendrado uma “economia da morte”
(MBEMBE, 2006). Os megaeventos, o marketing e os grandes projetos urba-
nos, as remoções forçadas e o empresariamento da administração pública têm
generalizado a cidade de exceção e aumentando tanto os conflitos sociais quan-
to formas de “contornar” barreiras de contenção buscando subverter a ordem
instituída (HAESBAERT, 2010). Esses contornamentos estabelecem contrausos
do espaço (LEITE, 2002). Entendemos como contrausos ações que politizam o
espaço público estabelecendo ruídos, constrangimentos à ordem espacial racista e
elitista instituída. Esses contrausos são rizomáticos, pois brotam em qualquer lu-
gar sem uma raiz, e também moleculares, ou seja, não há uma única estrutura que
os comande (GUATTARI, 1986). Precisamos compreender melhor os protagonis-
tas insubmissos (BOAL, 2003) que não se submetem à ordem moderno-colonial
urbana. Eis uma agenda de estudos.
Referências
ACSELRAD, H. Cidade – espaço público? A economia política do consumismo nas
e das cidades. Rev. UFMG, Belo Horizonte, v. 20, n. 1, p. 234-247, jan./jun. 2013.
ALCÂNTARA, G. Abaixo a farofa! Exclusão “legitimada” em territórios de praia.
Dissertação de Mestrado do IPPUR / Rio de Janeiro: 2005.
ARENDT, H. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São
Paulo: Companhia das Letras, 1999.
BARBOSA, J. L. O ordenamento territorial urbano na era da acumulação glo-
balizada. In: Território, territórios. Rio de Janeiro: Universidade Federal Flumi-
nense, 2002.
BEAUVOIR, S. O segundo sexo. São Paulo: Difel, 1967.
BIENENSTEIN, G.; SANCHEZ, F. O que está em jogo? Contradições, ten-
sões e conflitos na implementação do PAN-2007. In: VII Encontro Nacional da
ANPEGE, Niterói, RJ, 2007.
miolo_geografia_UFF.indd 111 30/01/17 17:16
112 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
BOAL, A. O protagonista insubmisso. In: O teatro como arte marcial. Rio de
Janeiro: Garamond, 2003.
CAMPOS, A. O. As questões étnico-raciais no contexto da segregação socioespa-
cial na produção do espaço urbano brasileiro: algumas considerações teórico-me-
todológicas. In: SANTOS, R. E. (Org.) Questões urbanas e racismo. Petrópolis, RJ:
DP et al.; Brasília, DF: ABPN, 2012.
CARPES, G. Em favelas com UPP, baile funk perde a vez para “festas de playboy”.
In: Fonte: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2013/10/12/
em-favelas-com-upp-baile-funk-perde-a-vez-para-festas-de-classe-media.htm
CARVALHO, J. M. Cidadania a porrete. In: Pontos e bordados – escritos de história
e política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.
GARCIA, A. S. Desigualdades raciais e segregação urbana em antigas capitais: Sal-
vador, Cidade d’Oxum e Rio de Janeiro, Cidade de Ogum. UFRJ-IPPUR: Rio
de Janeiro. Tese de Doutorado, 2006.
CASTRO-GÓMEZ, S. Tejidos oníricos: movilidad, capitalismo y biopolítica en
Bogotá (1910-1930). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2009.
FERRER, H. Pra voltar meu coração pro morro da favela. A resolução 013 e vida
cultural das comunidades do Rio. Fala Roça. Ano 2, n. 3. Rio de Janeiro, fev.
2014.
FANON, F. Pele negra, máscaras brancas. Salvador: EDUFBA, 2008 [1952].
FAULHABER, L.; NACIF, C. L. Rio Maravilha: desapropriações, remoções e
reforço do padrão de organização espacial centro-periferia. Anais: Encontro Na-
cional da ANPUR, 2013.
FERNANDES JUNIOR, G. L. Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) na era dos
megaeventos: algumas reflexões sobre a política de segurança pública na cidade do
Rio de Janeiro, pós Pan-Americano de 2007. São Gonçalo, 2012.131 f. (Mono-
grafia de Especialização em Dinâmicas Urbano-Ambientais e Gestão do Territó-
rio) Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ-FFP, São Gonçalo, 2012.
FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Torres, 2005.
GOFFMAN, E. Estigma – notas sobre a manipulação da identidade deteriorada.
Rio de Janeiro: Zahar, 1963.
miolo_geografia_UFF.indd 112 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 113
GOMES, M. S. A (des)(res)construção do Brasil como um Paraíso de Mulatas.
In: Revista Eletrônica de turismo Cultural. Vol. 4, n. 2. 2º semestre de 2010.
GROSFOGUEL, R. “Hay que tomarse en serio el pensamiento crítico de los
colonizados en toda su complejidad”. Entrevista realizada por Luis Martínez An-
drade. Metapolítica, n. 83, octubre-diciembre de 2013.
______. El concepto de “racismo” en Michel Foucault y Frantz Fanon: ¿teo-
rizar desde la zona del ser o desde la zona del no-ser? Tabula Rasa [On-line]
2012, (Enero-Junio): [Data de consulta: 12 / noviembre / 2014] Disponível em:
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39624572006>.
______. La descolonización del conocimiento: diálogo crítico entre la visión
descolonial de Frantz Fanon y la sociología descolonial de Boaventura de Sousa
Santos. In: Formas-Otras Saber, nombrar, narrar, hacer. IV Training Seminar de
Jóvenes Investigadores en Dinámicas Interculturales. Barcelona, diciembre de 2011.
GUATTARI, F. Micropolítica – Cartografias do desejo. Petrópolis: Vozes, 1986.
HANCHARD, M. G. Orfeu e o poder: o movimento negro no Rio de Janeiro e
São Paulo (1945/1988). Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001.
HARVEY, D. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005.
HAESBAERT, R. Territórios, in-segurança e risco em tempos de contenção ter-
ritorial. In: PÓVOA NETO, H.; FERREIRA, A.; VAINER, C.; SANTOS, M.
(Orgs.) A experiência migrante: entre deslocamentos e reconstruções. Rio de Janei-
ro: Garamond. 2010. p. 537-557.
HASENBALB, C. A.; SILVA, N. V. Relações raciais no Brasil contemporâneo. Rio
de Janeiro: Rio Fundo Editora; IUPERJ, 1992.
HONNETH, A. Observações sobre a reificação. Civitas. Porto Alegre, v. 8, n.1,
p. 68-79, jan-abr. 2008.
JÚNIOR, A. O.; LIMA, V. C. A. Violência letal no Brasil e vitimização da po-
pulação negra: qual tem sido o papel das polícias e do Estado? In: GOES, F. L.;
SILVA, T. D. S. (Orgs.). Igualdade racial no Brasil: reflexões no Ano Internacional
dos Afrodescendentes. Brasília: Ipea, 2013.
LEFEBVRE, H. La produción de l’space. Paris: Anthopos, 1986.
miolo_geografia_UFF.indd 113 30/01/17 17:16
114 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
LEITE, R. P. Contrausos e espaço público: notas sobre a construção social dos
lugares na Manguetown. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 17, n. 49, 2002.
LIPPOLD, W. G. R. O pensamento anticolonial de Frantz Fanon e a Guerra de
Independência da Argélia. Monographia, Porto Alegre, n. 1, 2005. Disponível em:
http://www.fapa.com.br/monographia
LANDER, E. Ciências sociais: saberes coloniais e eurocêntricos. In: A colonia-
lidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas.
Buenos Aires: CLACSO, 2000.
MALDONADO-TORRES, N. A topologia do ser e a geopolítica do conhecimen-
to: modernidade, império e colonialidade. Rev. Crítica de Ciências Sociais, 80,
março 2008: 71-114.
MARTINS, J. S. As condições do estudo sociológico dos linchamentos no Brasil.
Estudos Avançados, 9 (25), 1995.
______. “Eu, não, meu senhor”. Menino preso a poste no Rio descende de ho-
mens livres, mas a chibata continua lá: dentro da alma. Jornal Estado de São Paulo,
8 de fev. de 2014.
MEMMI, A. Retrato do colonizado precedido pelo retrato do colonizador. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
______. El racismo. Definiciones. Cuaderno de trabajo AFRODESC/ EURESCL
n.º 8, Estudiar el racismo. Textos y herramientas, México, 2010.
OLIVEIRA, D. A. Por uma geografia das relações raciais: o racismo na cidade do
Rio de Janeiro. Niterói: UFF, 2011. Tese de Doutorado.
______. O marketing urbano e a questão racial na era dos megaempreendimentos
e eventos no Rio de Janeiro. Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais, v.
16, n. 1, p. 85-106, / maio 2014.
ORTIGOZA, Silvia A. G. Paisagens do consumo: São Paulo, Lisboa, Dubai e Seul.
São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010.
PACHECO DE OLIVEIRA, João. Pacificação e tutela militar na gestão de popu-
lações e territórios. In: Mana 20(1): 125-161, 2014.
PORTO-GONÇALVES, C. W. A globalização da natureza e a natureza da globa-
lização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
miolo_geografia_UFF.indd 114 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 115
______. Geo-grafías. Movimientos sociales, nuevas territorialidades y sustentabili-
dad. México: Siglo Veintiuno, 2001.
ROLNIK, R. O que é cidade. São Paulo: Brasiliense, 1988.
SÁNCHEZ, F. et al. Produção do sentido e produção do espaço: convergências
discursivas nos grandes projetos urbanos. Revista Paranaense de Desenvolvimento,
Curitiba, n. 107, p. 39-56, jul./dez. 2004.
SANTOS. M. Espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987.
______. A natureza do espaço. São Paulo: Editora da USP, 2002.
SANTOS, B. S. Os fascismos sociais. Fonte: Retirado de http://norbertobobbio.
wordpress.com/ 2010/11/07/os-fascismos-sociais/ Em 7 de nov. de 2010.
______. Para uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências.
In: Conhecimento prudente para uma vida decente – “Um discurso sobre as ciências”
revisitado. São Paulo: Cortez, 2003.
SANTOS, R. E. Rediscutindo o ensino de geografia: temas da Lei n. 10.639. Rio
de Janeiro: CEAP, 2009.
SILVA, L. Etnia e território: como pensar as cidades brasileiras sob o ângulo ra-
cial. In: Revista do Mestrado em História, Vassouras, v. 8, p. 27-50, 2006.
SIMMEL, G. A metrópole e a vida mental. In: VELHO, O. G. (Org.). O fenô-
meno urbano. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1967.
SOARES, L. E. et al. Cabeça de porco. Rio de Janeiro: Objetiva, 2005.
SOUZA, L. A. Disciplina, biopoder e governo: contribuições de Michel Foucault
para uma analítica da modernidade. In: SOUZA, L.; SABATINE, T. T.; MAGA-
LHÃES, B. R. (Orgs.). Michel Foucault: sexualidade, corpo e direito. Marília:
Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2011.
SOUZA, M. L. Fobópole: o medo generalizado e a militarização da questão urba-
na. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2008.
VAINER, C. B. Pátria, empresa e mercadoria: notas sobre a estratégia discursiva
do planejamento. In: ARANTES, O.; VAINER, C. B.; MARICATO, E. A cidade
do pensamento único: desmanchando consensos. Petrópolis, Vozes, 2011a.
miolo_geografia_UFF.indd 115 30/01/17 17:16
116 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
______. Os liberais também fazem planejamento urbano? Glosas ao “Planeja-
mento Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro”. In: ARANTES, O.; VAINER,
C. B.; MARICATO, E. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos.
Petrópolis, Vozes, 2011b.
miolo_geografia_UFF.indd 116 30/01/17 17:16
O branqueamento do território como
dispositivo de poder da colonialidade:
notas sobre o contexto brasileiro
Gabriel Siqueira Corrêa
A formação da população brasileira foi um dos temas mais debatidos pelos
intelectuais brasileiros81 entre os anos de 1870-1930, período em que alguns dos
pilares da nacionalidade brasileira foram estabelecidos. Influenciados por teorias
europeias, principalmente o evolucionismo e o darwinismo social82, estes intelec-
tuais, que ocupavam cargos importantes de liderança em instituições nacionais
ou até mesmo no campo legislativo, defendiam que o desenvolvimento e o cresci-
mento da República – fundada em 1889 – estariam vinculados ao branqueamen-
to da sua população. Acreditava-se que através da imigração de brancos europeus
– política realizada83 (SEYFERTH, 1996, 2008) desde o início do século XIX – a
população negra tenderia a desaparecer e a nação prosperar.
81 Podemos citar como exemplo Joaquim Nabuco, com sua obra O abolicionismo; João Batista Lacerda, com
seu ensaio sobre as raças humanas, apresentado no Congresso das Raças em 1911; Sylvio Romero com o
debate sobre assimilação, que incorporava leituras de Friedrich Ratzel; Oliveira Viana com sua regionaliza-
ção a partir da pigmentação da pele, entre muitos outros.
82 O darwinismo social foi uma teoria baseada nas premissas do evolucionismo apresentadas na obra de
Charles Darwin, aplicadas aos grupos humanos. Cientistas sociais do século XIX utilizaram algumas leis
presentes na obra A origem das espécies, para legitimar a espoliação e a dominação de europeus sobre os
continentes africano, asiático e americano.
83 Da mesma forma, aconteceu uma grande corrente imigratória para países da América do Sul como Argen-
tina e Uruguai. Em países da África como África do Sul, e da Ásia como Austrália, ainda que de maneiras
diferentes, essa política de incentivo à imigração de europeus também foi significativa.
miolo_geografia_UFF.indd 117 30/01/17 17:16
118 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Estes debates foram extensamente pesquisados84, principalmente na antropo-
logia e na história. Leituras a partir desse campo indicam que o branqueamento
como ideologia foi substituído e/ou perdeu a força com a emergência da teoria
da democracia racial85 nos anos 1930. Nacionalizou-se um ideal que unificava
“racialmente” a população brasileira, e ao mesmo tempo, oferecia uma explicação
“harmonizante” das relações raciais no Brasil.
Porém, o número de pesquisas que problematizou este tema em campos dis-
ciplinares ligados às ciências humanas, não se repetiu na geografia, que aceitou
muitos dos preceitos do branqueamento, incorporando-os na sua leitura de terri-
tório e população (MACHADO,2009). Este fato impacta diretamente o ensino
básico de geografia, principalmente nos materiais didáticos, onde a “a concepção
de geografia do Brasil que se ensina” (MOREIRA, 1987) é fortemente influen-
ciada pelas ideias do branqueamento e da democracia racial (CORRÊA, 2013).
Diante disso, pretendemos neste artigo propor um diálogo entre as ferramentas
da geografia e a teoria do branqueamento, que para nós, ainda que tenha cessado
enquanto debate público ocorrido no início da República, não desapareceu en-
quanto intencionalidade com a emergência da teoria da democracia racial. Utili-
zaremos para isso a concepção de “branqueamento do território” (R. SANTOS,
2007), como um instrumento analítico-conceitual para interpretar e problematizar
as intervenções territoriais passadas e presentes, bem como, para identificar como a
colonialidade86 opera no contexto brasileiro. Para isso partiremos de duas premissas:
a) A tentativa de branqueamento da população envolveu diretamente um con-
junto de políticas no ordenamento territorial (nas mais diversas escalas), que
possuiu como impacto o controle sobre a reprodução da vida de grupos popu-
lacionais. Nesse sentido, expulsão, marginalização, quando não o genocídio,
marcaram um processo de exclusão da população negra do acesso ao território.
84 Já existem trabalhos aprofundados sobre o que foi a ideologia e a política de branqueamento aludida no
início do artigo, e que podem ser encontradas em Skidmore (1973), Schwarcz (1993) e Houfbauer (2006),
e, com isso, ainda que localizemos o debate, não temos como objetivo reapresentá-lo.
85 A concepção de democracia racial é adotada a partir dos trabalhos de Gilberto Freyre e difundida como
teoria que explica as relações raciais no Brasil. A principal característica dessa teoria é a concepção de relação
harmoniosa entre negros africanos, brancos europeus e amarelos indígenas, constituindo uma sociedade livre
de preconceitos. Para ver a crítica a essa teoria indicamos a leitura de Munanga (2010) e DaMatta (1990).
86 O debate sobre colonialidade pode ser encontrado em vários capítulos deste livro, ou ainda em QUIJANO
(2005, 2010), MIGNOLO (2003, 2005), PORTO-GONÇALVES (2001, 2005) e LANDER (2005).
miolo_geografia_UFF.indd 118 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 119
Esta prática, não só não terminou87 com o tempo, mas, sob novos discursos,
ganhou força no cenário nacional atual.
b) O branqueamento do território se apresenta enquanto estratégia da prática
do poder para manutenção da colonialidade. Ele se configura enquanto um
dispositivo, uma forma de exercício do poder, desta, na medida em que é con-
sequência de ordenamentos jurídicos e simbólicos, visíveis ou não, passados
ou presentes, fundamentadas em raciocínios baseados e/ou materializados no
espaço, que tem como elemento ordenador a raça. Uma forma de ordenamen-
to territorial constituído por características eurocêntricas e coloniais.
O branqueamento e seus impactos no passado
O branqueamento como ideário, mito ou ideologia (HOUFBAUER, 2006),
presente principalmente no conjunto de debates dos últimos anos da escravidão
até as primeiras décadas da República, tinha como objetivo o aumento de pessoas
brancas ocupando o território brasileiro. Sendo assim, independente de acontecer
ou não a miscigenação88, esperava-se que no máximo em um século (LACERDA,
1911) a população brasileira fosse composta quase exclusivamente por brancos,
o que também resolveria o medo da população negra89 (AZEVEDO, 1987), sen-
tida pelas elites.
Para isso, o debate saiu do plano discursivo e foi incorporado como política de
Estado (VAINER, 1990), resultando em medidas que estimulavam a imigração
de não negros e a marginalização e a expulsão de não brancos de várias porções
do território após a abolição.
O impacto do primeiro caso é visível nos dados populacionais. Se olharmos
os números, mais de 1,5 milhão de estrangeiros vivia no Brasil no ano de 1900,
segundo o órgão censitário do período. Uma observação importante é que este
87 WAISELFISZ (2014) demonstra através de dados que a população negra (principalmente entre 15-29
anos) morre proporcionalmente quase 80% mais que a branca. Já dados do IPEA mostram que a ocupação
em imóveis superlotados é de maioria negra, assim como as residências sem saneamento básico e os aluguéis
de quartos em cortiços, e casas em favelas.
88 Para entender melhor sobre o debate dos grupos que eram a favor e os que eram contra a miscigenação ver
Costa (2006).
89 Azevedo, em livro publicado no final dos anos 1980, destaca que o branqueamento não tinha apenas como
influência as teorias racistas da Europa, mas também o medo das elites, principalmente após as revoltas que
ocorreram no século XIX e a própria proporção do quilombismo pelo território.
miolo_geografia_UFF.indd 119 30/01/17 17:16
120 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
número é aproximadamente cinco vezes maior do que o registrado em 1872. Al-
gumas pesquisas (SKIDMORE, 1976) chegam a apontar que entre o período de
1850 e 1930, quase quatro milhões de estrangeiros entraram no território. Essa
imigração ainda veio acompanhada de uma densa legislação que conferia direitos
aos imigrantes, principalmente sobre acesso a financiamentos, terras e sementes
para a agricultura90.
Entre os decretos que autorizavam essas medidas, existiram as do período im-
perial, anteriores à República, que “fundaram” áreas como Nova Friburgo no Rio
de Janeiro, Londrina no Paraná e Blumenau em Santa Catarina, autorizando a
entrada de imigrantes no Império e os ordenando no território. Existiam ainda
aqueles que regularizavam os processos de imigração91 com acesso a direitos92
como o Decreto-Lei n. 528 de 1890 e posteriormente o Decreto-Lei n. 6.45593 de
1907. Há ainda outros decretos ou artigos presentes nas constituições, que apa-
recem até a de 1945, que sinalizavam a importância de manter a imigração com
o intuito de “(...) preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as
características mais convenientes da sua ascendência europeia (...)” (DECRETO
N. 7.967, 1945).
90 Não descartamos a possibilidade de que muitas dessas políticas fossem respeitadas, porém o fato de elas
estarem presentes no corpo jurídico mostra o prestígio dado aos imigrantes em detrimento da população
negra que vivia no território.
91 O art. 1 do decreto apresenta critérios para essa imigração: “1º É inteiramente livre a entrada, nos portos da
Republica, dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho, que não se acharem sujeitos á acção criminal do
seu paiz, exceptuados os indígenas da Ásia, ou da África que sómente mediante autorização do Congresso
Nacional poderão ser admittidos de accordo com as condições que forem então estipuladas” (ortografia
oficial da época).
92 Entre os benefícios se encontram flexibilidade no acesso às terras, amparo do Império caso haja perda do
patriarca dentro de um ano, auxílio se o mesmo for invalidado durante o serviço, em certas condições,
passagem paga. Prêmio financeiro para as empresas marítimas que conduzirem o transporte de imigrantes
sem reclamações. Limite máximo de preço para venda de terras aos imigrantes, dentre outros.
93 Entre os artigos temos dois que chamam atenção: “Art. 29. Ao immigrante estrangeiro, que, sendo agri-
cultor e contando menos de dous annos de entrada no paiz, contrahir casamento com brazileira ou filha
de brazileiro nato, ou o agricultor nacional que se casar com estrangeira, aportada ha menos de dous annos
como immigrante, será concedido um lote de terras com titulo provisorio, que se substituirá por outro definitivo
de propriedade, sem onus algum para o casal, si este tiver, durante o primeiro anno, a contar da data do
titulo provisorio, convivido em boa harmonia e desenvolvido a cultura e o aproveitamento regular do lote
com animo de continuar. Art. 30. Ao immigrante estrangeiro ou ao nacional, nas condições do artigo an-
tecedente, que quizer adquirir um lote a titulo definitivo, immediatamente após o casamento, vender-se-ha
por metade do preço que estiver estipulado” (ortografia oficial da época) (grifos nossos).
miolo_geografia_UFF.indd 120 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 121
O resultado dessas políticas pode ser notado no gráfico abaixo, em que é visí-
vel a diminuição no número de negros94 e o aumento no número de população
branca, a partir de 1872. Esses números só mudam a partir de 1950, quando
diminui o fluxo de imigração, e inicia-se um debate sobre o racismo no Brasil
Gráfico 1 – Evolução demográfica por cor/raça da população brasileira entre
1872 e 2010.95
Fonte: Séries estatísticas históricas de 1872-2000 do IBGE e Censo de 2010 do IBGE.96
Diante dos dados é possível afirmar que a política imigrantista e racista, apesar
de não alcançar o que desejava, obteve relativo sucesso até metade do século XX,
no que diz respeito à composição étnica da população.
O processo de constituição da população e também do território não depen-
dia apenas da imigração, mas também da organização do espaço que cada grupo
iria ocupar. Cabe lembrar que o contexto dos anos de 1880 envolvia o fim jurí-
94 Para o IBGE, devido à semelhança existente nas estatísticas sociais entre pretos e pardos, é possível agrupá-
-los em uma categoria única, a de negros. Logo, essa base de classificação analítica leva em conta a análise
dos indicadores sociais.
95 O censo de 1872 tinha como opções as categorias: Branca, Preta, Parda e Cabocla; o de 1890, Mestiça,
Preta e Cabocla; o de 1940: Branca, Preta, Amarela e Parda, mantendo-se até 1991, ano em que entrou a
categoria Indígena que permanece nos censos subsequentes. Baseando-se nos dados de população absoluta,
os dados disponíveis nas séries históricas incorporam as categorias Cabocla e Mestiça na categoria Pardo.
Em 1900 e 1920, as informações sobre cor/raça não foram coletadas, e em 1910 e 1930 não foi realizado o
censo no Brasil.
96 Dados acessados em 2/4/2015.
miolo_geografia_UFF.indd 121 30/01/17 17:16
122 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
dico da escravidão, um ano antes da proclamação da República e o aumento de
fluxo imigratório. A região sudeste, onde estava concentrado o poder econômico
e político, era a área de maior aglomeração da população negra ex-escravizada,
que nas décadas anteriores havia trabalhado nas lavouras de café.
Ainda assim o sudeste foi o grande destino dos imigrantes. Eles participaram
do mercado de trabalho, em pequenos comércios e na indústria nascente, ou como
mão de obra para as fazendas (principalmente as paulistas), substituindo a popula-
ção negra. Já outros grupos imigrantes foram destinados para o Sul, com o objetivo
de ocupação e fixação territorial, já iniciadas por alemães em décadas anteriores.
A pergunta que surge diante desse panorama é: qual foi o destino de parte da
população negra que vivia no Sudeste e dos grupos que viviam no Sul, em comu-
nidades quilombolas?
As respostas são variadas e dependem das histórias locais de cada região. Porém,
no caso do Sudeste, uma medida comum foi a de desterritorialização de populações
negras de áreas centrais, como ocorreu no Rio de Janeiro e em São Paulo (ROL-
NIK, 2007), acompanhado de um processo de marginalização desses grupos.
Um exemplo de remoção já bastante debatido aconteceu no Centro do Rio
de Janeiro, área que até o final do século XIX era pouco valorizada e povoada por
negros. Desejando dar cara nova ao que viria ser o centro econômico do esta-
do, foi realizada a reforma Pereira Passos. Durante a reforma houve um intenso
processo de expulsão de negros e negras, justificado pela ideia de higienização
da capital federal à época. Parte dessa população acabou sendo deslocada para
favelas próximas, carentes de condições básicas para a reprodução de suas vidas
(cf. CAMPOS, 2004).
Esse exemplo é significativo, pois, apesar de retratar uma área e uma escala,
ele foi repetido em várias localidades e momentos diferentes. Essas políticas po-
pulacionais e territoriais, ainda que difusas e fragmentadas no tempo e no espaço,
foram práticas que permaneceram (e permanecem), ainda que transvestidas de
diferentes discursos, em todo período republicano.
Essas ações, decorrentes dos debates sobre branqueamento, fazem parte do
processo de ordenamento territorial entrelaçado por um componente racial. Um
processo em que o espaço foi organizado para a difusão e a reprodução de privi-
légios para a população branca. Já a população negra foi expropriada e removida
para áreas precárias, de marginalização e ausência de direitos básicos. Não é estra-
nho que, mais de um século depois da escravidão, ainda é a população negra que
miolo_geografia_UFF.indd 122 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 123
ocupe espaços de menor investimento público, conforme dados apresentados por
Paixão (2012).
Estas são apenas algumas pistas que indicam olhar as práticas de branquea-
mento não apenas enquanto fenômeno antropológico, mas, também, como um
dispositivo geográfico de poder, que conforma lugares (materiais e simbólicos)
nos quais populações vivem. Nesse contexto o branqueamento do território apa-
rece como ferramenta de leitura e compreensão de situações onde a política de
branqueamento se converteu em – ou teve como consequência – práticas terri-
toriais e, ainda, como a partir destas práticas foi produzida uma narrativa sobre
a nação que omite e subalterniza a presença de grupos não brancos, legitimando
em alguns casos expulsões e remoções de comunidades negras.
Branqueamento do território como dispositivo da colonialidade do poder
O processo de branqueamento do território é entendido a partir de três dimen-
sões (R. SANTOS, 2007): uma atuando diretamente no ordenamento da ocu-
pação do território, o branqueamento da ocupação, outra criando uma imagem e/
ou apagando outra – uma geográfica imaginativa dos grupos e seus símbolos – do
território, o branqueamento da imagem e, por fim, a normatização de uma cultu-
ra eurodescendente como única matriz válida em detrimento de outras, o bran-
queamento da cultura. Essas dimensões sintetizam a tentativa de invisibilização e
reconstrução sob a lógica eurocêntrica de “territórios não brancos”, ou seja, o apa-
gamento da presença das grafagens espaciais (R. SANTOS, 2009), das geo-grafias
(PORTO-GONÇALVES, 2003) negras e indígenas do território brasileiro.
Estas dimensões se articulam mutuamente, estão interconectadas, de modo
mais ou menos visível conforme o ângulo de análise em que o território está
sendo trabalhado. Porém todas são influenciadas por um padrão nas relações de
poder sob o aspecto racial. Envolvem o imaginário e a construção da ideia de raça,
como um dos dispositivos que regulam as relações sociais, que não são a-espaciais,
ou seja, elas têm impactos no espaço, na ocupação e na reprodução dos grupos
que ali vivem.
A compreensão do projeto de modernidade/colonialidade ajuda a entender
como essa prática de branqueamento do território permanece e se reproduz sobre
outras formas. Ela não é mais explícita, funcionando através da imigração e da ocu-
pação dos chamados “vazios demográficos”. Mas é acionada na intenção de organi-
zar os espaços em prol de um grupo branco em detrimento de grupos não brancos.
miolo_geografia_UFF.indd 123 30/01/17 17:16
124 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Isso se aplica aos lugares que cada um deve ocupar, o papel que devem exercer, e os
padrões simbólicos a serem valorizados, contribuindo para a manutenção de um
padrão eurocêntrico no que diz respeito à reprodução material e simbólica.
As políticas de modernização e/ou revitalização do espaço urbano são um
exemplo de continuidade dessas práticas, em que o branqueamento do território
parece funcionar como um dispositivo da colonialidade. O discurso de moder-
nização defende a realização de reformas de áreas consideradas degradadas, com
a instalação de aparelhos técnicos que possam ajudar na circulação de pessoas;
na inserção de bens simbólicos que valorizam o padrão arquitetônico, criação de
áreas de lazer com museus, cinemas, teatros, e junto a isso um “embelezamento”
composto por jardins e praças da paisagem97.
Estas áreas degradadas em grandes centros são ocupadas em muitos casos por
populações negras98, e, como consequência dessas revitalizações, grande parte dos
grupos que não possuem o título de propriedade são expulsos, e os que con-
seguem permanecer sofrem com especulações e ameaças. O branqueamento do
território aqui aparece como face oculta do processo de modernização, tal qual a
colonialidade da modernidade.
É preciso dizer que, como dispositivo da colonialidade, é importante entender
o branqueamento, não apenas no que diz respeito ao aspecto da ocupação. A ex-
propriação pode ocorrer, por exemplo, através do branqueamento da imagem em
que há perda de referenciais de valorização que influenciam na continuidade dos
grupos. Em determinados casos os processos que envolvem o ordenamento terri-
torial têm um caráter tão violento que, “mesmo com uma ‘territorialização’ (física)
aparentemente bem definida, o outro está de fato desterritorializado, pois não exerce
efetivo domínio e apropriação sobre seu território” (HAESBAERT, 2006, p. 262).
Uma das formas efetivas desse branqueamento da imagem é a manipulação
das narrativas, produto de uma relação de poder. Forjam-se fatos, presenças são
97 Um estudo interessante sobre este processo é o de Oliveira (2014), que problematiza a relação às políticas
de city-marketing com a inscrição espacial de um projeto de dominação racial na cidade do Rio de Janeiro.
98 Segundo livro produzido pelo IPEA, Situação social da população negra por estado (2014), com base nos
dados do PNAD de 2011, das famílias que têm como chefe do domicílio pessoas negras, apenas 61% vivem
em moradia adequada (acesso a água potável, esgoto, casa com telha ou laje, acesso a energia elétrica e a
telefonia, e máximo de duas pessoas por dormitório) no meio urbano e metropolitano e 41% no urbano
não metropolitano. Quando esses números são comparados aos chefes de domicílio branco, observamos
uma taxa de 77% de morarias urbanas metropolitanas e 61,9% em urbanas não metropolitanas. Uma
observação é que, se a comparação for restrita à Região Sudeste, a diferença entre eles é ainda maior.
miolo_geografia_UFF.indd 124 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 125
apagadas e outras são inseridas. Porque se investir do poder de construir narrati-
vas é também uma forma de deter o poder de desterritorializar outros grupos, à
medida que, ao excluir o outro de processos detonadores de sua formação, este
outro é posicionado à margem, fora da história do território, com suas lembran-
ças negadas. Negar a presença é construir como não existente. Não é ignorar a
presença, é excluir ou posicionar apenas em situações estratégicas, reconstruindo
a identidade que determinado grupo terá do seu território, ou mesmo destruindo
qualquer referência, conforme for conveniente para o grupo.
As narrativas que acompanham os territórios são então conteúdos que iden-
tificam um grupo a ele, ao explicar o que faz desse território ser seu território.
Não é à toa que existem disputas de versões acerca das narrativas de determinados
territórios, pois nelas repousam, por exemplo, conflitos jurídicos, em relação à
posse da terra99. São disputas que incidem sobre a imagem que o território possui
e refletem a leitura que se faz deste.
Outra dimensão do branqueamento que remete a uma matriz de colonialidade
é a cultura, que aparece na criminalização e na subalternização de qualquer outra
forma cultural que não seja a ocidental-branca, classificando-as como folclóricas, pri-
mitivas, tradicionais – com uma conotação negativa. Dessa forma, o branqueamento
da cultura “é a construção da primazia de matrizes, signos e símbolos culturais que
constituem e identificam territórios, lugares e regiões” (R. SANTOS, 2009, p. 65).
O branqueamento da cultura tinha e ainda tem como alvos, principalmente:
religiosidade100, linguagem, musicalidade, a origem e a participação de negros no
corpo da cultura brasileira.
99 Essa dimensão do branqueamento é comum nas disputas de narrativas para a emissão do título de comuni-
dades quilombolas pelo Brasil. Em alguns casos, a narrativa hegemônica da região não incorpora as comu-
nidades negras como grupo que ali esteve, e é utilizada no movimento de deslegitimação de comunidades
durante o processo de titulação garantido no artigo 68 do ADTC. Acreditamos, inclusive, que foi a própria
dimensão do branqueamento da imagem que ocasionou o desconhecimento de inúmeras comunidades ne-
gras pelo território brasileiro e possibilitou que o artigo 68 fosse aprovado, dando condições para diversas
comunidades pleitearem seus territórios, em um número que hoje chega a quase 2 mil territórios em disputa.
100 Nos últimos anos tem crescido o número de ataques a terreiros de Candomblé. Fonseca e Giacomini
(2013) apontam que, dos mais de 800 terreiros visitados durante a pesquisa, mais da metade relatou sofrer
agressões. No caso das denúncias de intolerância religiosa, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos
aponta que só o Rio de Janeiro teve 39 queixas dentre as 149 realizadas no Brasil inteiro. Em alguns casos as
queixas viram agressões e ganham repercussão nacional, como foi o caso do incêndio ao barracão do terreiro
da Mãe Conceição de Lissá em Duque de Caxias, Rio de Janeiro, como pode ser visto na reportagem do
Estadão: http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,terreiro-de-candomble-e-incendiado-na-bai-
xada-fluminense,1519654 (acessado em 2/21/2015).
miolo_geografia_UFF.indd 125 30/01/17 17:16
126 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Essas dimensões suscitam possibilidades de leituras para processos territoriais e são
um dos caminhos possíveis para o debate sobre como as relações raciais não só têm
uma relação com a geografia, mas podem ser problematizada por ela, compreendendo
que a raça não é apenas um dado, mas um fator importante na leitura do território.
Considerações finais: colonialidade do saber e geografia
Em poucas páginas levantamos, mesmo que superficialmente, inúmeros pon-
tos que relacionam branqueamento e geografia. Muitos desses temas estão presen-
tes na disciplina geográfica, mas a dimensão racial normalmente passa despercebi-
da ou é ignorada. Fala-se de empreendedorismo urbano, gentrificação, segregação
social, desigualdade de classe, espoliação no campo, violência urbana – só para
citarmos as relacionadas ao texto – e pouco é problematizado o papel da raça, em
varias situações em que esses conceitos são empregados.
Este silenciamento tem como uma das causas a não abordagem do tema no
currículo de geografia101. No ensino básico (fundamental e médio), a dimensão
racial não só não é abordada, como também é reforçada a tese da democracia
racial, reproduzindo imaginários que dificultam o combate ao racismo, vistos na
maioria dos livros didáticos, mesmo os aprovados pelo MEC.
Mas é no ensino superior102 que este silenciamento é mais grave, pois ali é
um momento potencial para problematização dessas narrativas geográficas, que
criam/ reproduzem um imaginário colonial sobre as relações raciais no Brasil.
Porém, quantos cursos de geografia incorporam um debate sobre a questão racial
nos seus currículos? Quantos textos são lidos na graduação, que permitem uma
reflexão acerca do tema? Até que ponto a dimensão racial é utilizada na com-
preensão do racismo na sociedade? Será que em algum momento disciplinas da
graduação que relacionam formação e/ou organização do espaço brasileiro, ou até
mesmo a formação da população brasileira, tocam no tema?
101 Mesmo com a Lei n. 10.639/03, que obriga a inserção do debate das relações raciais nos currículos, ainda
é baixa a incorporação da temática em sala de aula. Na geografia uma iniciativa para propor uma agenda no
ensino foi feito por Santos (2006), que buscou posicionar como o debate das relações raciais pode contri-
buir para o ensino de geografia.
102 Concordamos que este debate começa a ganhar relevância, o que pode ser visto no aumento (e aceitação)
de trabalhos de pós-graduação no tema (CERQUEIRA; CORRÊA, 2012) e até mesmo na presença de me-
sas sobre relações raciais em encontros nacionais como o ENG (Encontro Nacional de Geógrafos), porém,
isso não exclui os questionamentos, já que, a inserção desse debate na graduação ainda é restrito a pessoas
envolvidas no tema.
miolo_geografia_UFF.indd 126 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 127
É importante questionar as geografias que temos aprendido e ensinado, se
elas apresentam os conflitos existentes nas disputas territoriais do passado, e nos
ajuda a entender a organização do espaço atualmente. Perceber o branqueamento
do território como estratégia e dispositivo de poder da colonialidade a partir da
geografia talvez seja um caminho, para que os eventos, arranjos e ordenamentos
racistas (OLIVEIRA, 2012) não passem despercebidos da leitura de território que
fazemos de/do Brasil.
Referências
AZEVEDO, Célia Maria marinho. Onda negra, medo branco: o negro no imagi-
nário das elites no século XIX. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
CAMPOS, Andrelino. Do quilombo à favela: a produção do “espaço criminaliza-
do” no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
CORRÊA, Gabriel Cerqueira. A questão étnico-racial na geografia brasileira:
um debate introdutório sobre a produção acadêmica nas pós-graduações In: XII
Colóquio Internacional de Geocrítica Bogotá, 7 a 11 de mayo de 2012, Universidad
Nacional de Colombia, 2012, Bogotá.
CORREA, Gabriel Siqueira. Narrativas raciais como narrativas geográficas: uma
análise do branqueamento do território nos livros didáticos de geografia. Disser-
tação defendida no programa de Pós-Graduação da Universidade Federal Flumi-
nense, 2013.
COSTA, Sérgio. O branco como meta: apontamentos sobre a difusão do racismo
cientifico no Brasil pós-escravocrata. In: Revista Afro-Asiáticos, ano 28, 2006.
DAMATTA, Roberto. Digressão: a fábula das três raças, ou o problema do ra-
cismo à brasileira. Relativizando, uma introdução à antropologia social. Rio de
Janeiro: Rocco, 1990, p. 58-87.
FONSECA Denise; GIACOMINI Sonia Maria. Presença do axé: mapeando ter-
reiros no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Pallas, 2013.
HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à
multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.
HOUFBAUER, Andreas. Uma história de branqueamento ou o negro em questão.
São Paulo: UNESP, 2006
miolo_geografia_UFF.indd 127 30/01/17 17:16
128 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
LACERDA, João Batista. 1911. Sur les métis au Brésil, Congrès Universel des
Races. Paris: Imprimerie Devouge. Tradução de Eduardo Dimitrov, Íris Morais
Araújo e Rafaela de Andrade Deiab. s/d.
LANDER, Edgardo. Ciências sociais: saberes coloniais e eurocêntricos. In:
______. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais perspectivas
latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005.
MACHADO, Lia, Osório. Origens do Pensamento geográfico no Brasil: meio
tropical, espaços vazios e a ideia de ordem (1870-1930). In Geografia: conceitos
e temas. (org) Castro et. al. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2009
MIGNOLO, Walter D. Os esplendores e as misérias da “ciência”: colonialidade, ge-
opolítica do conhecimento e pluriversalidade epistêmica. In: SOUSA SANTOS, Bo-
aventura de. Conhecimento prudente para uma vida decente. São Paulo: Cortez, 2003.
______. A colonialidade de cabo a rabo: o hemisfério ocidental no horizonte
conceitual da modernidade. In: LANDER, Edgardo. A colonialidade do saber:
eurocentrismo e ciências sociais perspectivas latino-americanas. Buenos Aires:
CLACSO, 2005.
MOREIRA, Ruy. O discurso do avesso (Para a crítica da geografia que se ensina).
Rio de Janeiro: Dois Pontos, 1987.
MUNANGA, Kabengele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacio-
nal versus identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.
______. Mestiçagem como símbolo da identidade brasileira. In: SOUSA SAN-
TOS, Boaventura de; MENESES, Maria Paula. Epistemologias do Sul. São Paulo:
Cortez, 2010.
PAIXÃO, Marcelo; CARVANO, Luiz M. (Orgs.). Relatório Anual das Desigual-
dades Raciais no Brasil, 2009-2010. Rio de Janeiro: Garamond, 2012.
OLIVEIRA, Denilson Araújo de. Por uma geografia das relações raciais: o racismo
na cidade do Rio de Janeiro. Tese apresentada no programa de pós-graduação em
Geografia da UFF, 2012.
______. O marketing urbano e a questão racial na era dos megaempreendimentos
e eventos no Rio de Janeiro. In: Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais,
vol. 16, n. 1, 2014.
miolo_geografia_UFF.indd 128 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 129
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Da geografia às geo-grafias: um mundo.
Em busca de novas territorialidades. Apresentado na II Conferência Latinoame-
ricana y Caribenha de Ciências Sociais. México, 2001.
______. Apresentação. In: LANDER, Edgardo (Org.). A colonialidade do saber:
eurocentrismo e ciências sociais – Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires:
CLACSO, 2005.
QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In:
LANDER, Edgardo. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais
perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005;
______. Colonialidade do poder e classificação social. In: SOUSA SANTOS,
Boaventura de; MENESES, Maria Paula. Epistemologias do Sul. São Paulo: Cor-
tez, 2010
ROLNIK, Raquel. Territórios negros nas cidades brasileiras: etnicidade e cidade
em São Paulo e Rio de Janeiro. In: SANTOS, Renato Emerson (Org.). Diversida-
de, espaço e relações étnico-raciais: o negro na geografia do Brasil. Belo Horizonte:
Autêntica, 2007.
SANTOS, Renato Emerson dos. O ensino de geografia e as relações raciais: refle-
xões a partir da Lei n. 10.639. In: ______. Diversidade, espaço e relações étnico-ra-
ciais: o negro na geografia do Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2007-.
______. Rediscutindo o ensino de geografia: temas da Lei n. 10.639. 2009. (Mimeo)
SEYFERTH, Giralda. Construindo a nação: hierarquias raciais e o papel do racis-
mo na política de imigração e colonização, p. 41-58 In: MAIOR, Marcos Chor;
SANTOS, Ricardo Ventura. Raça, ciência e sociedade. Rio de Janeiro: FrioCruz/
CBB, 1996.
______. Imigrantes, estrangeiros: a trajetória de uma categoria incomoda no cam-
po político. Apresentado na 26ª Reunião Brasileira de Antropologia. Porto Ale-
gre, 2008.
SKIDMORE, Thomas E. Preto no branco: raça e racionalidade no pensamento
brasileiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
VAINER, Carlos. Estado e raça no Brasil: notas exploratórias. In: Estudos Afro-A-
siáticos n. 18, RJ, 1990.
miolo_geografia_UFF.indd 129 30/01/17 17:16
130 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
WAISELFISZ, Júlio Jacobo. Mapa da violência 2014: os jovens do Brasil. Rio de
Janeiro: Flacso Brasil, 2014.
Decretos e relatórios
Decreto-Lei n. 6.455 de 19 de abril de 1907. Aprova as bases regulamentares para
o serviço de povoamento do solo nacional.
Decreto-Lei n. 7.967 de 1945. Dispõe sobre a imigração e colonização, e dá ou-
tras providências.
Decreto-Lei n. 528 de 1890. Regulariza o serviço da introdução e localização de
imigrantes na República dos Estados Unidos do Brasil.
Lei n. 514 de 28 de outubro de 1848 com o planejamento das despesas do Impé-
rio nos próximos anos.
IPEA. Situação social da população negra por estado. Instituto de Pesquisa Aplicada;
Secretaria de políticas de Promoção da igualdade Racial – Brasília: IPEA, 2014.
miolo_geografia_UFF.indd 130 30/01/17 17:16
Racismo, espaço e colonialidade do poder, do
saber e do ser: diálogos, trajetórias e horizontes
de transformação
Carolina de Freitas Pereira
Ainda embebida por todas as falas, os encontros, inquietações e esperanças
compartilhadas com os(as) presentes no I Seminário Geografia e Giro Descolo-
nial: Experiências, Ideias e Horizontes de Renovação do Pensamento Crítico, inicio
a escrita deste texto. O dia é o 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos
Palmares, que ressignificada hoje como Dia da Consciência Negra dá visibilidade
à trajetória histórica de luta de todas as negras e todos os negros que, pelo direito
à vida, por justiça, reconhecimento, valorização de conhecimentos e cosmovisões,
historicamente se mobilizam.
O desafio a mim colocado é o de sistematizar a discussão realizada durante a
mesa de debates Racismo, espaço e colonialidade do poder, do saber e do ser: diálogos,
trajetórias e horizontes de transformação, que teve a imensa contribuição de Denílson
Araújo de Oliveira (professor do curso de Geografia da Faculdade de Formação de
Professores/UERJ-FFP e coordenador do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Geo-
grafia Regional da África e da Diáspora/NEGRA), Ivanir dos Santos (fundador
do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas/CEAP-RJ), Leonardo de
Oliveira Carneiro (professor do curso de Geografia da Universidade Federal de Juiz
de Fora/UFJF e coordenador do Programa de Extensão Kizomba Namata) e Renato
Emerson dos Santos (professor do curso de Geografia da Faculdade de Formação de
Professores/UERJ-FFP e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Geo-
grafia, Relações Raciais e Movimentos Sociais/NEGRAM), cujas falas foram enri-
quecidas pelas questões colocadas por Gabriel, Tiago, Daniel, Igor (estudantes de
graduação em Geografia da UFF), Maíra (mestranda) e Carlos Walter (professor do
miolo_geografia_UFF.indd 131 30/01/17 17:16
132 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
curso de Geografia da Universidade Federal Fluminense). As falas dos palestrantes
serão brevemente colocadas (na ordem de apresentação da mesa), não no intuito de
reproduzi-las, mas de estabelecer as conexões necessárias ao alcance do objetivo pro-
posto pelo texto. Alguns trechos das falas foram incorporados ao texto graças à fil-
magem realizada pela equipe do Centro de Documentação, Informação e Pesquisa
sobre o Ensino de Geografia (CEDIPE). Todos(as) devidamente apresentados(as),
dou-me o direito de, a partir daqui, tratá-los(as) pelo primeiro nome, entendendo
que assim nos aproximamos da dinâmica da conversa estabelecida na ocasião.
Ao apresentar o ensaio sobre o trabalho de ensino, pesquisa e extensão Kizom-
ba Namata, com comunidades quilombolas da Zona da Mata Mineira, Leonardo
traz narrativas e situações sobre territórios formados reciprocamente por histórias
de racismo, exploração de mão de obra de peonagem e resistência: a) a história do
pai do senhor Geraldo, da Comunidade Quilombola de Santa Rita do Botafogo,
que um dia se enrolou com cipó de São João para espantar todo o gado da fazenda
onde, como peão, ao mesmo que tempo em que trabalhava se endividava, atitude
que levou à sua expulsão da fazenda sem necessidade de pagamento da dívida; b)
a vida dos(as) quilombolas de São Pedro de Cima, que de acordo com o senhor
Antônio tem sua história de formação ligada à exploração das fazendas de café,
produto este que ao mesmo tempo permitiu a liberdade deles(as) (após incentivo
do governo para plantação de café, houve uma corrida para regularização de suas
terras com a seguinte estratégia: se plantavam cinco hectares, regularizavam ao
menos um para alcançar as políticas públicas). Atualmente, após iniciado o pro-
cesso de reconhecimento quilombola, enfrentam conflitos com famílias brancas
da área que reavivaram velhos preconceitos e formas de violências (tais famí-
lias resgataram a expressão “dar o burro”, que remete ao momento de chegada
dos seus antepassados nos anos 1960. Nessa época, quando chegavam nas terras
do(as) negros(as) para delas se apropriarem, levavam consigo um burro, em cujo
os(as) negros(as) deviam montar e ir embora, pois se amanhecessem lá no outro
dia seriam mortos(as); c) o caso de violência de cunho racial na comunidade de
Colônia do Paiol, onde um aluno quilombola foi esfaqueado por outro estudante
da escola que é filho do líder de um grupo que existe na cidade de Bias Fortes
voltado à “proteção” da cidade contra os “colonha”, como são denominados os(as)
negros(as) da comunidade de Colônia do Paiol.
Dessas experiências de ser e saber, Leonardo destaca a inteligência das estra-
tégias de resistência dos(as) moradores(as) das comunidades de Santa Rita do
miolo_geografia_UFF.indd 132 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 133
Botafogo, São Pedro de Cima e Colônia do Paiol, como formas de insubordina-
ção. Outras questões abordadas dizem respeito à tensão que vive o(a) pesquisa-
dor(a) nesses territórios – situação que, influenciado pelo pensamento descolonial
– acredito que especialmente de Grosfoguel (2012) – ele denomina de fronteira
ou ciência na fronteira – área fértil de encontro, espaço privilegiado de diálogo e
interseções entre conhecimentos – pois,
muitas vezes a vivência nessa fronteira acaba nos induzindo também a perceber
e buscar metodologias de trabalho que deem conta deste encontro de saberes.
Aliás, uma outra experiência que eu diria que é marcante […] foi recentemente
a realização de uma disciplina na UFJF da qual fui um dos coordenadores, que
foi a disciplina Encontro de Saberes, uma iniciativa do professor José Jorge
de Carvalho da UNB, que nós conseguimos reproduzir dentro da UFJF na
qual nós possibilitamos que alunos de graduação tivessem uma disciplina cujos
mestres foram mestres da cultura popular. No caso nós levamos lideranças
indígenas, mães de santo, mestres jongueiros e agricultores familiares ligados à
agroecologia. Então foram essas pessoas, alguns deles analfabetos, que deram
essa disciplina de graduação para os estudantes.
No entanto, deixa claro que muitas reflexões são de caráter embrionário e
encontram-se ainda em pauta: como afirmar descolonialmente a interseção e a
fronteira entre a percepção e o conhecimento do(a) pesquisador(a) e as narrativas
dos sujeitos? Como fazer esse jogo de forma a criar um conhecimento híbrido?
Quais os caminhos metodológicos para inserir o(a) pesquisador(a) nessa frontei-
ra? Extensão, diagnóstico rural participativo?
Um dos pontos centrais da exposição de Leonardo repousa no entendimento
de que se faz necessária a busca por metodologias que deem conta desse encontro
de saberes, caminho que para ele se faz possível na integração ensino-pesquisa-ex-
tensão. É a partir dessa integração que se faz possível a criação de uma interseção
entre os conhecimentos acadêmicos e populares. A extensão tem para Leonardo
grande potencial de nos colocar nessa fronteira, posto que, por exemplo, ao pro-
duzir um relatório para apresentá-lo à comunidade o(a) pesquisador(a) se obriga
a refletir de um ponto de vista que leva em conta esses sujeitos. “Na relação in-
dissociável […] entre ensino, pesquisa e extensão há uma possibilidade de sairmos de
determinados simulacros. […] É esse o caminho de nos aproximarmos das questões
que são caras às sociedades com as quais trabalhamos”.
miolo_geografia_UFF.indd 133 30/01/17 17:16
134 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Renato se coloca a problematizar os sistemas hegemônicos de pensamento na
geografia brasileira, campo de forças cuja forma dominante de leitura contribui
para a difusão de valores, formas de ler e compreender o mundo que reprodu-
zem o padrão da colonialidade de poder, chamando atenção para o fato de que
o ensino de geografia ainda é uma narrativa colonial do mundo contemporâneo.
Enquanto pesquisador e professor, posiciona-se de imediato: diz incorporar pers-
pectivas trazidas pela teoria descolonial na esperança de contribuir para a forma-
ção de geógrafos(as) que possam reconfigurar a correlação de forças nesse campo,
mudando a maneira como pensamos e damos contorno ao espaço.
Parece-me que, dentre muitos caminhos, Renato parte de uma dimensão fun-
damental de sua “experiência espacial” (apropriando-me de um termo recorrente
em sua reflexão), a saber, a racial. Do ponto de vista da investigação, o desafio
colocado por ele é o de fazermos uma leitura espacial do racismo, a partir da qual
sejamos capazes de deslocar focos de análises geográficas, ou seja, fazer a passagem
da colonialidade para a descolonialidade.
O que é, por exemplo, pensar a formação do território brasileiro a partir do
olhar daqueles grupos que foram invisibilizados pelas narrativas históricas? O
que é a formação do território brasileiro pela experiência das populações negras
que foram quilombos em um período histórico e que foram transformadas em
comunidades negras rurais a partir da incorporação subalternizante enquanto
força de trabalho em outra ordem social e que hoje reemergem através da
reconstituição de pertencimentos e identidades quilombolas? Ou [o que é a
formação do território brasileiro a partir da experiência] de grupos indígenas?
A leitura espacial e descolonial do racismo proposta por Renato é composta
por três agendas fundamentais: 1- releitura do processo histórico de conformação
do mundo contemporâneo – pensando-se o papel do racismo; 2- complexificação
da compreensão das situações concretas de relações de poder no capitalismo, por
meio da articulação trialética das noções de dominação-exploração-hierarquização,
cujo raciocínio deve se centrar no espaço; 3- reposicionamento do papel do saber –
formas de produção, bem como processos de inculcação e difusão do saber.
De seu ponto de vista, a teoria descolonial abre a possibilidade de pensarmos
como o racismo opera enquanto um sistema de poder, ou seja, não só como
gerador de prejuízos para alguns grupos, mas como princípio de conduta e re-
miolo_geografia_UFF.indd 134 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 135
gulador das relações sociais no capitalismo, ao transformar dados corpóreos em
elementos de classificação e hierarquização social. Em conjunto com outros eixos
de dominação-exploração-hierarquização (cita classe, divisão do trabalho, Estado
nacional territorial, gênero e epistêmico), o racismo é um componente da orga-
nização espaçotemporal das relações sociais e, portanto, referência em termos de
aprendizagens espaciais dos(as) negros(as) – experiências que estruturam o que
Renato chama de fronteiras invisíveis das relações raciais. Transpor essas fronteiras
implica repensar o papel do racismo, ressignificar o genocídio e o rapto das popu-
lações africanas, a exploração da população negra no Brasil e, hoje, o extermínio
da juventude negra no espaço urbano.
Denilson trata de situações concretas de inscrição espacial do imaginário colo-
nial racista e da biopolítica, por meio de uma análise das políticas de city-marke-
ting na cidade do Rio de Janeiro. A investigação desse caso tem para ele dois ca-
minhos possíveis: primeiro, partir de uma leitura que problematize a construção
da imagem do Rio de Janeiro como cordial e racialmente democrática para atrair
turistas, investimentos, empreendimentos e eventos: “a questão racial é acionada
como uma forma de produzir uma singularidade”, que tem o mito da “democracia
racial como um instrumento de venda da imagem da cidade”; segundo, analisando-
-se a gestão racista da cidade como mecanismo biopolítico, ou seja, instrumento
de controle da população negra, por meio de intervenções “apaziguadoras”: a
gestão urbana faz
uso político do discurso do medo e do caos urbano, […] quando se refor-
çam padrões de circulação racializados do espaço. Esses padrões de circulação
racializados do espaço público estabelecem o que estou chamando de uma
geocronobiopolítica urbana.
A gestão racializada cria, segundo Denilson, espaços particulares onde, de-
pendendo do momento do dia, os(as) negros(as) não podem circular, sendo
eliminados da paisagem. A segregação, sob a rubrica do controle do caos, torna-se
instrumento gerador de sensação de segurança e por isso é tida como legítima.
A imagem de cidade cordial e racialmente democrática e a geocronobiopo-
lítica urbana resultam em racialização da distribuição da população, enfraqueci-
mento de críticas à segregação, baseadas na ideia do Rio de Janeiro como cidade
onde a discriminação é mínima ou mesmo inexistente. Embora, como aponta
miolo_geografia_UFF.indd 135 30/01/17 17:16
136 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Denilson, na realidade aconteça exatamente o oposto: a revitalização de velhas
segregações, agora sob novas roupagens. Heranças coloniais são ressignificadas,
como o exemplo do sítio arqueológico Cemitério dos Pretos Novos, no bairro
da Gamboa, zona portuária, antigo valão onde se jogavam negros sem a mínima
dignidade de terem uma cova, agora ponto de atração de turistas, renovando-se,
portanto, as vestes de um espaço pretérito de segregação, hoje despolitizado e
destituído das marcas essenciais de violência e opressão. Fica ecoando em minha
cabeça uma pergunta: formarão futuros sítios arqueológicos os corpos-pretos-no-
vos jogados em valões no Rio de Janeiro contemporâneo?
A análise do city-marketing a partir da questão racial se coloca para Denilson
como agenda de pesquisa passível de levar a uma compreensão mais profunda e
adequada da nossa realidade urbana. Os megaeventos, o marketing, os grandes
projetos urbanos, bem como as remoções forçadas e os conflitos correlatos de-
monstram alguns dos elementos essenciais do racismo em sua face contemporâ-
nea no Brasil.
A fala de Ivanir começa com a seguinte afirmação: “o debate sobre a questão
racial se ampliou para além do movimento negro”, demonstrando que este não é um
problema exclusivo dos(as) negros(as), mas sim da sociedade como um todo. Des-
se ponto de vista, questões como o sistema de cotas raciais e ligações Brasil-África
precisam ser debatidas por todos(as).
No que diz respeito à África, Ivanir aponta deslocamentos imprescindíveis: re-
conhecer que os povos africanos têm conhecimento e tecnologia, colocar o conti-
nente como berço da criação e da história da humanidade e admitir a existência de
suas lógicas, nas quais o que tem valor não é a instrução cartesiana que rege o co-
nhecimento eurocentrado, mas sim cultura, identidade, costume e espiritualidade.
Lembrei-me de trechos de romances de José Eduardo Agualusa. Em Estação
das Chuvas, Mario de Andrade é reavivado para dizer o quão necessário é “pegar
numa das palavras de ordem lançadas por Viriato da Cruz”, “Vamos descobrir Angola
e criar bases para um amplo trabalho de redescoberta de África”. Em A rainha Ginga
expressa em belas palavras interdições de ontem e horizontes futuros:
Nos dias antigos, acrescentou, os africanos olhavam para o mar e o que viam era
o fim.
O mar era uma parede, não uma estrada. Agora, os africanos olham para o mar e
veem um trilho aberto aos portugueses, mas interdito para eles.
miolo_geografia_UFF.indd 136 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 137
No futuro – assegurou-me – aquele será um mar africano. O caminho a partir do
qual os africanos inventarão o futuro.
Problematizando os reflexos disso para a população negra no Brasil, Ivanir nos
provoca a pensar, por exemplo, nas formas de estudo dos fenômenos populares
na academia, usualmente enquadrados em teorias e metodologias que nada têm
a ver com o que se analisa e com estudantes por vezes orientados(as) por pessoas
que não tem conhecimento sobre os temas relacionados a esse universo (cito ain-
da casos de alunos(as) que não encontram quem possa lhes orientar por falta de
interesse ou conhecimento). Ou seja, aprendemos a partir de um fazer-saber que
olha para o mar e vê o fim, não o mar africano e suas muitas possibilidades de
invenção do futuro. Por isso Ivanir, afirma que muitas das questões trazidas pe-
lo(as) negro(as) não se encaixam na lógica e na hegemonia de conhecimento nos
espaços intelectuais. Desse ponto de vista, decodificar a cultura negra não tem a
ver somente com a questão da cor da pele, mas também com reconhecimento de
que os povos negros são sujeitos de história, lógicas, conhecimentos e tecnologias,
por isso é problema da sociedade brasileira como um todo.
A promoção da Lei n. 10.639, alterada pela Lei n. 11.654/08 – que estabelece
a obrigatoriedade do ensino da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e In-
dígena no ensino básico” – representa para Ivanir uma possibilidade de revolução
de saber, posto que abre a possibilidade de acúmulo de informações sobre a África
– e, assim, sobre culturas, identidades, saberes, costumes e espiritualidades corres-
pondentes. Para ele, é a partir dessa nova forma de conhecimento que será viável
uma mudança de paradigma capaz de transformar a maneira como aprendemos.
Ainda segundo Ivanir, esse campo de formação de conhecimentos é uma arena de
contracultura, de combate à ignorância, inclusive no campo religioso, posto que
acredita que descolonizar é antes de tudo sensibilizar as pessoas a lidarem com a
diversidade e com a diferença, a discutirem temas como racismo e religião, o que
levará ao reconhecimento de saberes e valores até então negados enquanto tais.
Ao responder a pergunta de Gabriel sobre o momento de sua vida no qual
percebeu que a politização da luta contra o racismo e a criminalização religiosa
era um caminho importante, Ivanir retoma sua trajetória:
eu nasci na favela do Esqueleto […] e moro na Mangueira. Eu nasci na favela
do Esqueleto e aos seis… sete… oito anos de idade fui raptado pela polícia e
miolo_geografia_UFF.indd 137 30/01/17 17:16
138 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
colocado no SAM [Serviço de Assistência ao Menor], fui criado no SAM e na
FUNABEM [Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor], […] então fui
criado a minha vida toda em colégio interno. Quando eu fui aluno da FU-
NABEM […] isso era nítido […] 98% dos alunos comigo eram negros […].
Quando eu passei para a Notre Dame, fui fazer faculdade, 99% dos estudantes
que estudavam comigo eram brancos. Alguma coisa não batia. Esse foi o início
da minha consciência racial, alguma coisa estava errada. […] Então a primeira
coisa que forjou a minha consciência racial foi isso. Alguma coisa estava errada.
Na fala, Ivanir relata ainda que esse despertar para a questão racial foi poten-
cializado com o discurso de Paulo Freire na faculdade sobre o oprimido:
eu tava lá sentando ouvindo e eu entendi que ele falava de mim. Aí eu levantei
e fui lá e fiz uma fala e a faculdade me aplaudiu de pé, eles não estavam acos-
tumados a ver oprimidos […] estudando ali, então isso forjou muito a minha
consciência racial e minha consciência política.
Consciência racial e política não são somente pontos de partida de Leonardo,
Renato, Denilson e Ivanir, mas também, e sobretudo, horizontes de chegada.
Todas as falas tocam em três problemas centrais a serem pensados em termos
descoloniais.
1. As narrativas deixam claro que o racismo é uma variável fundamental da for-
ma como o espaço é pensado e concebido no Brasil, já que, enquanto sistema
de poder, organiza decisões por/sobre o espaço. Leonardo fala de condições
de exploração e preconceito, do problema da discriminação das famílias ne-
gras em São Pedro de Cima, de racismos que vieram à tona em processos de
reconhecimento de comunidades quilombolas e o caso extremo de Colônia
do Paiol, onde uma criança foi assassinada por ser negra. Renato trata de geo-
graficidades das relações raciais, de organização espacializada e racializada das
relações sociais. Denilson fala da relação entre o imaginário colonial racista e
a biopolítica, cujo caso de gestão racista do espaço no Rio de Janeiro é emble-
mático. Ivanir fala de questão racial como problema da sociedade brasileira e
de negação do outro como sujeito de valor e cultura.
Todos dialogam com as ideias de Quijano (2002; 2007) cujo debate se dá em
torno do conceito de raça como categoria social artificial e crucial na estru-
miolo_geografia_UFF.indd 138 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 139
turação de sistemas de hierarquia, exploração e dominação na modernidade,
demonstrando o quanto estes sistemas baseados na raça são ainda atuais e
fundamentais para a acumulação capitalista. A afirmação de Quijano (2002)
de que a raça emerge e é mobilizada de acordo com interesses, interferindo nas
construções espaçotemporais das sociedades contemporâneas, se faz presente
nas reflexões de todos os palestrantes.
A partir desse entendimento (fruto de investigações analíticas, bem como de
“experiências espaciais”) Leonardo, Renato, Denilson e Ivanir se colocam no
campo onde se insere Quijano, no qual a questão central é: como a raça opera
enquanto sistema ideológico e prático de classificações e hierarquizações so-
ciais? Partem, portanto, da análise do ponto de vista racial como deslocamento
necessário para se pensar e discutir em termos descoloniais as especificidades
da experiência de formação territorial brasileira.
2. Propõem que, em termos descoloniais, pensar racismo implica dar ênfase à
dimensão denominada por Porto-Gonçalves (2002, p. 220) de re-existência,
posto que “mais do que resistir, [os(as) negros(as)] R-Existiram, se reinventa-
ram na sua diferença, assim como o europeu é, também, uma invenção na
diferença embora na condição de polo dominante no “sistema-mundo”. Em
suas falas, Leonardo, Renato, Denílson e Ivanir chamam atenção para situa-
ções e estratégias de resistência cujas ações acabam por traduzir experiências
espaciais, formas de ser e saber – diálogos, trajetórias e horizontes de trans-
formações. Ponho-me a supor que as colocações dos palestrantes voltam-se a
demonstrar que aqueles que se sentem destituídos da possibilidade de poder ser
fazem da re-existência meio de ser poder.
Permanentemente colocadas em situações de vulnerabilidade social, desde
os tempos da escravidão as populações negras se mobilizam, movimentam
e articulam de formas diversas com vistas a re-existirem, reinventando-se em
operações que, como bem aponta Certeau (1988), se instauram em pluralida-
des e criatividades procriadas nas relações com as circunstâncias, ou seja, na
força do contexto, nas práticas cotidianas. Embora hegemônicas, às lógicas
dominantes das elites brancas contrapõem-se e/ou articulam-se outras lógicas
engendradas pelas populações negras, que nos parecem ser cunhadas na busca
pela re-existência.
miolo_geografia_UFF.indd 139 30/01/17 17:16
140 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
A re-existência passa pela luta e pelo conflito, mas também por negociação,
invisibilidade, visibilidade etc. – enfim, múltiplas formas de reprodução da
vida. Essas são características da experiência socioespacial de identidades cons-
tituídas no/pelo colonialismo (em situações em que a racialização e o patriar-
calismo são elementos fundamentais). Como aponta Porto-Gonçalves (2004,
p. 21-22), o conflito é uma forma de expressão de uma determinada luta social
na qual se colocam frente a frente dois ou mais sujeitos sociais, é um momento
de “tensão criativa”, a partir do qual “esperam mudar de lugar”.
No encontro dessas diferentes experiências – forçado para os(as) negros(as)
escravizados(as) e os(as) indígenas – o domínio da racionalidade branca euro-
peia implicou para os(as) negros(as) e os(as) índios(as), não só subalternização,
mas também re-existência e re-invenção cotidiana.
3. A partir de suas experiências específicas, os palestrantes apontam caminhos
possíveis para fazer pesquisa e produzir conhecimento do ponto de vista do
diálogo entre distintos saberes e matrizes de racionalidades, avançando-se
assim em direção a o que Walsh (2007) denomina “pluri-versalidad episte-
mológica” – perspectiva de conhecimento que considera com seriedade as
epistemologias que têm suas bases em filosofias, racionalidades e cosmovisões
distintas da ocidental, relacionadas às “práticas-no-lugar”, que permitam não
se reproduzir padrões de subalternização de subjetividades e saberes, de racia-
lização e de colonialismo.
A integração ensino-pesquisa-extensão representa para Leonardo a possibili-
dade de construção do que Walsh (2001) expressa como necessário: novos
marcos epistemológicos que incorporem e ponham em negociação e tradução
os conhecimentos populares e acadêmicos.
Renato e Denilson deixam claro que colocar em evidência as múltiplas formas
por meio das quais, no Brasil, o racismo se configura enquanto um dos elementos
da colonialidade do poder e do saber nos reposiciona no campo de disputas por
definição e interpretação da realidade social. Apontam ainda que, no que tange à
geografia, a compreensão dos conhecimentos e das experiências das pessoas em
contextos racistas coloniais passa pelo entendimento de que esses sujeitos foram
constituídos na/pela racialização, no/pelo patriarcalismo, na/pela re-existência.
Como demonstra Mignolo (2008), essas formas de pensar e agir se constroem na/
miolo_geografia_UFF.indd 140 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 141
pela colonialidade para subvertê-la na/pela descolonialidade, possível (dentre ou-
tros caminhos) quando se parte da rejeição aos conceitos universais da epistemolo-
gia dita universal eurocêntrica, substituindo-os pelos conhecimentos das pessoas e
suas subjetividades conformadas a partir de suas experiências, que são localizadas.
Ivanir e Leonardo apontam ainda para os novos conhecimentos e linguagens
cunhados a partir do estabelecimento de políticas públicas, tais como a Lei n.
10.639/03, alterada pela Lei n. 11.654/08, o sistema de cotas raciais e o artigo
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórios (ADCT), que admite
que “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando
suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes
os títulos respectivos”.
Atualmente, parece-me que o duplo reconhecimento impulsionado pelos ins-
trumentos legislativos citados (duplo no sentido de que há não só o reconheci-
mento público oficial, mas também o autorreconhecimento) permite colocar em
evidência as trajetórias culturais e territoriais dos(as) negros(as), problematizadas
agora no campo da política de Estado e abordadas pelos próprios em termos
de efetivação de reconhecimento de direitos. Partem das teorizações monolíti-
cas, monoculturais e universais do pensamento eurocêntrico que rege as políticas
públicas, mas, no entanto, a tradução destas é a forma característica de desobe-
diência epistêmica de quem cresceu e aprendeu a viver, como aponta Grosfoguel
(2012), em contexto de epistemologia ou pensamento de fronteira.
Sendo assim, como sinaliza Ivanir, os direitos reconhecidos por essas políticas
públicas representam passos iniciais, porém importantes em termos de acúmu-
lo de conhecimentos até então considerados não conhecimentos, abrindo novas
perspectivas de sensibilização e de mudança de paradigmas que transformem a
maneira como aprendemos e ensinamos.
Em um momento de sua fala, Ivanir afirma que usa sua experiência de vida
não para legitimar qualquer status quo ou se vitimizar, mas para servir de inspira-
ção. Podem as experiências vivificadas durante os relatos aqui sistematizados nos
conduzir a posicionamentos e pensamentos com vistas à construção de epistemo-
logias iluminadas por, como propõe Walsh (2007, p. 107), “experiencias sociales
contra-hegemónicas y a los supuestos epistemológicos alternativos que estas expe-
riencias construyen y marcan”?
As trajetórias delineadas, os diálogos traçados e os horizontes descortinados nos
colocam o desafio de, enquanto pensadores (intelectuais em e do movimento, como
miolo_geografia_UFF.indd 141 30/01/17 17:16
142 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
fala Carlos Walter) e formadores de opinião (de professores e de lideranças políti-
cas), capitalizar essas aberturas e incorporar novas linguagens, novas experiências de
ser e saber ao pensar e fazer político-intelectual, que nos conduzam à descolonização
de pensamento, práticas, saberes, identidades, representações e memórias.
Referências
CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. Artes de fazer. Petrópolis: Vozes,
1998.
GROSFOGUEL, Ramón. Para descolonizar os estudos de economia política e os
estudos pós-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialida-
de global. Periferia, v. 1, n. 2, 2012.
MIGNOLO, Walter. Desobediência epistêmica: a opção descolonial e o signi-
ficado de identidade em política. Cadernos de Letras da UFF. Dossiê: Literatura,
língua e identidade, n. 34, p. 287-324, 2008.
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Da geografia às geo-grafias: um mundo
em busca de novas territorialidades. In: SADER, Emir; CECEÑA, Ana Esther
(Orgs). La guerra infinita – Hegemonía y terror mundial. Buenos Aires: CLACSO,
2002.
______. A geograficidade do social: uma contribuição para o debate metodoló-
gico sobre estudos de conflito e movimentos sociais na América Latina. Revista
Eletrônica da Associação dos Geógrafos Brasileiros, 2004.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade, poder, globalização e democracia. Novos Ru-
mos. 4 ano 17, n. 37, 2002.
______. O que é essa tal de raça? In: SANTOS, Renato Emerson dos. Diversida-
de, espaço e relações étnico-raciais: o negro na geografia do Brasil. Belo Horizonte:
Autêntica, 2007.
WALSH, Catherine. ¿Qué conocimiento(s)? Reflexiones sobre las políticas de cono-
cimiento, el campo académico, y el movimiento indígena ecuatoriano. Boletín ICCI
Rimay. Publicación mensual del Instituto Científico de Culturas Indígenas, n. 25, 2001.
______. ¿Son posibles unas ciencias sociales/culturales otras?. Reflexiones en tor-
no, 2007.
miolo_geografia_UFF.indd 142 30/01/17 17:16
III – POVOS INDÍGENAS E COMUNIDADES
TRADICIONAIS E AS LUTAS PELA
DESCOLONIZAÇÃO DO SABER,
DO PODER E DO TERRITÓRIO
miolo_geografia_UFF.indd 143 30/01/17 17:16
miolo_geografia_UFF.indd 144 30/01/17 17:16
A ordem moderno-colonial do desenvolvimento:
desafios críticos desde uma leitura das práticas e
das vozes das comunidades tradicionais
Jorge Montenegro
Otávio Gomes Rocha
(...) no tengamos miedo a las contradicciones y a las paradojas. Tengamos solo
miedo al miedo de experimentar vías de desocupación del orden.
(Horror Vacui, Santiago López Petit)
O desafio de renovar o pensamento crítico ganha sentido, habitualmente, en-
tre duas leituras míticas, mais complementares entre si do que aparentam ser. O
mito positivo de um horizonte que nunca se alcança, mas que nos incita a não
parar de caminhar, cabeça erguida e os olhos na distância, e o mito negativo de
um Sísifo, cansado e de cabeça baixa, condenado a empurrar uma grande rocha
ladeira acima sem a esperança de chegar ao cume, e vendo como desbarranca em
um eterno retorno obstinado e infrutuoso.
A grandeza do caminhar e o castigo da tarefa que nunca acaba mostram a du-
alidade dessa iniciativa frente a uma realidade que parece se esgueirar a cada mo-
mento. As contradições e os paradoxos de uma sociedade complexa e em trans-
formação mostram o lado mundano de um pensamento crítico que só consegue
seguir caminhando (ou empurrando) desde a modéstia de suas conquistas, desde
o parco fruto de suas incertezas.
A partir dessas coordenadas construímos este ensaio. Provocados pelo convite
a participar do I Seminário “Geografia e giro descolonial: experiências, ideias e
horizontes de renovação do pensamento crítico”, propomos uma leitura crítica,
miolo_geografia_UFF.indd 145 30/01/17 17:16
146 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
que incorpora o pós-desenvolvimento e a descolonialidade, da conexão entre de-
senvolvimento e comunidades tradicionais a partir das relações sociais de pesquisa
que viemos estabelecendo com a Rede Puxirão de Povos e Comunidades Tradicio-
nais no Paraná e em Santa Catarina nos últimos anos. Essas relações foram media-
das em grande parte pelo acompanhamento, desde o Coletivo ENCONTTRA,
de processos de cartografia social realizados pelos diferentes povos e comunidades
tradicionais dos dois estados, o que permitiu perceber a importância dessa ferra-
menta tanto para gerar processos de autorreconhecimento e de organização social
por parte das comunidades autocartografadas como para encontrar na cartografia
um fértil campo de debate sobre práticas e conflitos que interpelam os modelos
impostos de desenvolvimento (hoje sob a hegemonia do modelo primário-expor-
tador) e as metanarrativas de ordenamento social embutidas.
Na confluência entre a corrosiva crítica pós-estruturalista do desenvolvimen-
to (pós-desenvolvimento), a caleidoscópica percepção da colonialidade pelo Pro-
grama de Pesquisa modernidade/colonialidade latino-americano e as desafiantes
contradições e paradoxos dos trabalhos e dos dias das comunidades tradicionais
que acompanhamos no Paraná e em Santa Catarina, pretendemos timidamente
assomar ao diálogo necessário sobre a renovação do pensamento crítico. Um
diálogo que, além da sua aparente imponência, imaginamos impregnado do cui-
dado extremo com que se participa no uso (e na reconstrução constante) de um
bem comum e do respeito das dificuldades de reconhecer e descrever os (des)ca-
minhos desses grupos que se mostram e se escondem nas suas autoidentificações
e nas suas autocartografias.
Em qualquer caso, o objetivo dessa reflexão limitada gira ao redor de um
desafio maior: refletir sobre a desocupação da ordem moderno-colonial do de-
senvolvimento enquanto imposição cotidiana sobre as comunidades tradicionais.
Nesse sentido, após situar a oposição frente às narrativas do desenvolvimento
construída pelos povos e comunidades tradicionais nos estados do Paraná e de
Santa Catarina através de uma leitura de suas autocartografias, serão acionadas
algumas ferramentas teórico-metodológicas para dialogar com as ações empre-
endidas por estes grupos. A crítica pós-estruturalista do desenvolvimento deve
embasar a proposição de um “pós-desenvolvimento popular” associado às práticas
sociais que apontam para a construção de outras racionalidades e caminhos alter-
nativos ao desenvolvimento como projeto civilizatório. Em seguida, adentraremos
a perspectiva descolonial, associada ao programa modernidade/colonialidade, a
miolo_geografia_UFF.indd 146 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 147
partir da noção de heterarquia para uma leitura sobre a complexidade das formas
de dominação e resistência relacionadas aos povos e comunidades tradicionais.
Povos e comunidades tradicionais contra a (des)ordem do desenvolvi-
mento: entre cartografias sociais e conflitos territoriais
Desde 2005, os povos e comunidades tradicionais do Paraná e de Santa Cata-
rina vêm gerando processos de autocartografia que localizam suas práticas e seus
conflitos103. Processos que, ao mesmo tempo: politizam modos de vida menos-
prezados socialmente; provocam novas formas de organização social104; disputam
os saberes oficialmente estabelecidos (ciência, Estado etc.); e se constituem em
uma janela para conhecer a diversidade de usos e apropriações do território que
continuam acontecendo nesses estados.
Como se pode observar no Quadro 1, nos últimos sete anos aconteceram 17
publicações entre cartografias sociais e mapeamentos situacionais (territorial-
mente mais abrangentes) nos estados do Paraná e de Santa Catarina ligados a
comunidades tradicionais e identidades coletivas no entorno da Rede Puxirão.
Cada uma delas mostra um retrato plural das formas em que essas comunida-
des usam os bens naturais (água, terra, plantas, sementes etc.), produzem sua
subsistência, mantêm suas expressões culturais, organizam suas resistências e
declaram suas reivindicações.
103 Essas cartografias foram apoiadas desde o início por várias organizações e pesquisadores articulados no Núcleo
de Pesquisadores de Cartografia Social da Região Sul do Brasil. Desde 2012, esses pesquisadores propõem
o grupo Identidades Coletivas e Conflitos Territoriais no Sul do Brasil como forma de dar continuidade às
dinâmicas de mapeamento. O Coletivo ENCONTTRA se insere nessa dinâmica a partir de 2009.
104 Vários movimentos sociais foram criados paralelamente aos processos de cartografia, como a Articulação
Puxirão de Povos Faxinalenses (APF), o Movimento dos Ilhéus do Rio Paraná (MOIRPA), o Movimento
dos Pescadores Artesanais do Litoral do Paraná (MOPEAR), o Movimento Interestadual das Cipozeiras e
Cipozeiros (MICI) e o Movimento Aprendizes da Sabedoria (MASA). Em outros casos, os movimentos
já existiam: como a Articulação dos Povos Indígenas do Sul (ARPIN-Sul), a Federação de Comunidades
Quilombolas do Paraná (FECOQUI) e o Fórum Paranaense de Religiões de Matriz Africana (FPRMA).
Todos eles formam, a partir de 2008, a Rede Puxirão de Povos e Comunidades Tradicionais.
miolo_geografia_UFF.indd 147 30/01/17 17:16
148 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Quadro 1 – Cartografias sociais no Sul do Brasil (2007-2014).Fonte: Projeto
Nova Cartografia Social e Grupo Identidades Coletivas e Conflitos Territori-
ais no Sul do Brasil.
Cartografias sociais no Sul do Brasil (publicadas)
Nome Localidade Comunidade Ano de
tradicional publicação
/ Identidade
coletiva
Povos dos Faxinais Centro do Paraná Faxinalenses 2007
Faxinalenses: fé, conhecimentos Faxinal do Rio do Faxinalenses 2008
tradicionais e práticas de cura Couro (Irati-PR)
Faxinalenses no Setor Centro do Centro do Paraná Faxinalenses 2008
Paraná
Faxinalenses no Setor Sul Paraná Centro-Sul do Paraná Faxinalenses 2008
Faxinalenses Setor Metropolitano de Região Metropolitana Faxinalenses 2008
Curitiba de Curitiba-PR
Mapeamento Social dos Faxinais no Paraná Faxinalenses 2009
Paraná
Faxinalenses do Núcleo Metropoli- Região Metropolitana Faxinalenses 2011
tano Sul de Curitiba de Curitiba-PR
Cipozeiros de Garuva Garuva-SC Cipozeiros 2007
Mapeamento Situacional dos Litoral Sul do Paraná Cipozeiros 2010
Cipozeiros do Litoral dos Estados do e Litoral Norte de
Paraná e de Santa Catarina Santa Catarina
Comunidade Quilombola Invernada Guarapuava, Pinhão e Quilombolas 2008
Paiol de Telha Fundão Reserva de Iguaçu-PR
Comunidade Quilombola de João Adrianópolis-PR Quilombolas 2009
Surá
Comunidade Quilombola de Rocio, Palmas-PR Quilombolas 2010
Adelaide Trindade Batista, Castorina
Maria da Conceição e Tobias Ferreira
Ilhéus do Rio Paraná Atingidos pelo Rio Paraná-PR Ilhéus 2009
Parque Nacional da Ilha Grande e
APA Federal Paraná
Pescadores Artesanais da Vila de Guaraqueçaba-PR Pescadores 2010
Superagui artesanais
Comunidade Tradicional de Agri- Imbituba-SC Agricultores 2011
cultores e Pescadores Artesanais dos e Pescadores
Areias da Ribanceira artesanais
miolo_geografia_UFF.indd 148 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 149
Mapeamento Social das Benzedeiras, Centro-Sul do Paraná Benzedeiras 2012
Benzedores, Curadeiras, Curadores,
Costureiras e Costureiros de Ren-
didura/Machucadura e Parteiras
Mapeamento Social dos Impactos Imbaú-PR Atingidos pelo 2013
Provocados pelas Plantações de Eu- Deserto Verde
caliptus no Município de Imbaú-PR
Cartografias sociais no Sul do Brasil (no prelo)
Tekoa Guarani Nhandeva Terra Tomazina-PR Grupo indígena nov 2014
Indígena Pinhalzinho: Djaikwaa Guarani Nhan-
Pa Nhandereko/Nosso Lar Nós deva
Conhecemos
Associação dos Moradores do Bairro Paranaguá-PR Movimento dez 2014 ou
Jardim Jacarandá 2 em Paranaguá: popular de jan 2015
Nossa luta é pelo direito à moradia bairro
e à cidade
MOPEAR Guaraqueçaba-PR Caiçaras, pesca- 1º semestre
dores e pescado- de 2015
ras artesanais
Cartografia Social da Terra Indígena José Boiteux, Vitor Indígenas Xok- 1º semestre
Laklãnõ (Xokleng) Meireles, Itaiópolis e leng, Kaigang e 2015
Doutor Pedrinho-SC Guarani
A riqueza dos relatos que as cartografias condensam merece um estudo cui-
dadoso sobre a maneira em que esses grupos se autodefinem e se organizam para
defender seu território e as formas de vida associadas. No entanto, nesse momento
propomos apenas uma leitura parcial, centrada em registrar como as comunidades
autocartografadas se situam na disputa por modelos e sentidos do desenvolvimento.
Se uma das bases das cartografias sociais consiste em que a iconografia seja
realizada pelas próprias comunidades105, consultar a legenda desses mapas oferece
um mostruário amplo e sistemático das práticas e conflitos que marcam essas
populações. Ainda que em nenhuma dessas cartografias apareça qualquer símbolo
referido explicitamente ao desenvolvimento, sim, parece claro que cada uma delas
retrata as múltiplas formas em que esses grupos se relacionam com seu entorno
natural e social, apresentando de forma implícita estratégias de vida concretas que
dialogam tensionadamente com as diretrizes que os modelos de desenvolvimento
institucionalizados lhes oferecem/impõem.
105 Para consultar cartografias sociais similares ver, entre outros, o Projeto Nova Cartografia Social da Amazô-
nia: <www.novacartografiasocial.com>.
miolo_geografia_UFF.indd 149 30/01/17 17:16
150 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Essa tensão ocorre em múltiplas dimensões, mas na simplificação assumida
para este texto optamos por agrupá-las ao redor de três eixos básicos: o cercamen-
to dos bens comuns; os impactos das grandes obras; e o ardil da sustentabilidade.
O cercamento dos bens comuns
Uma das denúncias mais recorrentes sobre o cercamento e a expropriação dos
bens comuns se refere à água. O impedimento do acesso ao bem, a destruição e o
desmatamento de nascentes ou a contaminação destas em função do uso de agro-
tóxicos ou de atividade mineradora próxima são algumas das causas pelas quais
as comunidades veem como suas fontes d’água vão desaparecendo e como suas
possibilidades de se manter no território vão sendo cada vez menores. Sem água
própria para o consumo humano, para manter sua roça ou para cuidar das cria-
ções, os limites da sobrevivência estão postos. Todos os grupos concordam com
a importância de um bem que não pode ser desprezado ou mercantilizado sem
mais, como faz o modelo de desenvolvimento em curso (sob o princípio de que
todo recurso tem que ter um valor monetário para ser preservado), já que garante
a continuidade da vida no local.
Nesse mesmo sentido, também comparece com extraordinária frequência a im-
possibilidade de continuar praticando o extrativismo dos mais diversos tipos: ervas
medicinais, cipó-imbé, samambaia, frutas, madeira para lenha, pesca etc. A amplia-
ção das áreas do agronegócio (“Conflitos com agronegócio” já aparece na legenda da
primeira cartografia realizada com os faxinalenses) representa um problema geral, já
que aos processos de invasão e cercamento se unem a contínua aplicação de agro-
tóxicos, o desmatamento, a redução da produção de alimentos (substituídos por
madeira, fumo ou por monoculturas em grandes extensões), a perda de sementes
crioulas, a mineração e a competência dos pescadores industriais, entre outros106.
Dimas Gusso, do Faxinal Saudade Santa Anita, expressa assim:
(...) fazendeiros que não conhecem a cultura e se apropriam na comunidade
e não entendem essa cultura do uso comum da terra e dos recursos naturais.
Um conflito bem atual que a gente vem enfrentando. Aí vem os piquetes, as
106 Um dos conflitos mais enigmáticos, “Impedimento de luz”, apontado no “Mapeamento Social dos Impactos
Provocados pelas Plantações de Eucaliptos no Município de Imbaú-PR”, resulta também em um dos mais
paradigmáticos do choque entre modelos. Os eucaliptos plantados indiscriminadamente em todos os lugares
pela empresa Klabin, no município de Imbaú-PR, supõem uma ameaça às plantações dos moradores locais,
mas também à própria vida destes. Na sombra dos eucaliptos “a terra é morta”, como diz um dos impactados.
miolo_geografia_UFF.indd 150 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 151
destocas, beira de água, privatiza a água, privatiza os recursos naturais, como
plantas medicinais, aí tem toda uma questão cultural. (NOVA CARTOGRA-
FIA SOCIAL, 2008, p. 5)
Não há conciliação possível entre, de um lado, o avanço de um modelo carac-
terizado, pelo consumo massivo de recursos naturais e pela produção e exportação
de produtos primários e, de outro, onde são fundamentais o cuidado com a na-
tureza e o uso de baixo impacto feito pelas comunidades, buscando a perdurabi-
lidade dos bens naturais no tempo como desafio.
Infelizmente, essa pressão se realiza, na maior parte dos casos (15 das 17 car-
tografias), mediante ameaças e violência, seja diretamente contra os próprios mo-
radores das comunidades, seja contra os animais criados soltos (roubo, envene-
namento ou matança). O depoimento de Ondina Maria de Jesus, de 93 anos,
na cartografia da Comunidade Quilombola Invernada Paiol de Telha/Fundão107
resulta contundente nesse sentido.
Não podia buscar lenha, o guardião tinha que acompanhar. Teve tiro na vez
que nos entramos lá [primeira ocupação 1996] e saímos com a polícia (...)
Muita gente tinha medo que eles iam fazer alguma coisa para nós. Tínhamos
medo do sequestro. E davam pedrada, cortavam a lona do barraco (NOVA
CARTOGRAFIA SOCIAL, 2009a)
Essa situação, no entanto, se repete também na escala nacional. Um ano após
a criação da Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto-Lei
n. 6.040, de 7 de fevereiro de 2007), o Caderno de Conflitos do Campo da Co-
missão Pastoral da Terra (CPT) já apontava que a violência sofrida pelas popula-
ções tradicionais superava aquela sofrida pelos envolvidos na luta pela terra e pela
reforma agrária (sem-terra e assentados). Diante das demandas pela apropriação
reconhecida oficialmente dos territórios que tradicionalmente ocupam, esses gru-
pos viraram alvo da violência do agronegócio, que vê como a expansão territorial
em larga escala que promove, está em perigo frente à possibilidade de que grandes
107 A Comunidade Quilombola Paiol de Telha foi reconhecida pelo INCRA no dia 21/10/2014. Depois de
mais de 40 anos da expulsão de seus locais de origem (e de quase 10 da abertura do processo) esta comu-
nidade se converte no primeiro território quilombola reconhecido no Paraná. Para mais informações, ver
Terra de Direitos (2014a; 2014b)).
miolo_geografia_UFF.indd 151 30/01/17 17:16
152 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
áreas possam ser retiradas do mercado de terras como territórios titulados cole-
tivamente para essas comunidades. O discurso e a prática do desenvolvimento
linear (e infinito) que fundamenta o modelo primário-exportador se chocam vio-
lentamente contra os direitos territoriais das comunidades. A disputa pelo sentido
do mapa representa também uma disputa territorial material evidente.
Os impactos das grandes obras
O modelo primário-exportador que cerceia as possibilidades de sobrevivência
das comunidades em seus territórios também pressiona através da criação de in-
fraestruturas que permitem uma exploração mais intensa dos bens comuns. Nesse
sentido, as cartografias também representam as ameaças que alguns desses empre-
endimentos oferecem aos grupos, ocupando lugar de destaque na gramática dos
conflitos territoriais.
Incompatíveis com qualquer possibilidade de relação harmoniosa com o am-
biente, estes empreendimentos são guiados exclusivamente pelos interesses de um
capital que se acumula por espoliação e configuram ameaças evidentes à repro-
dução da vida. Para além da incessante agressão ambiental que as grandes obras
invariavelmente praticam em seu entorno e da degradação humana acoplada no
pacote de desenvolvimento que trazem consigo, estes empreendimentos caracte-
rizam-se fundamentalmente pela mercantilização da natureza.
A Usina Hidrelétrica de Itaipu talvez seja o exemplo mais extremo dentro das
autocartografias analisadas, já que o fechamento das comportas da barragem e a
subida das águas sem aviso prévio aos ilhéus e ribeirinhos que moravam no entor-
no significou um inesperado primeiro grande impacto. No entanto, depois conse-
guiu piorar. A construção da represa articulou-se à criação de áreas de preservação
de uso restrito nas ilhas do rio Paraná, como se a eliminação da presença dos
seres humanos nestas ilhas pudesse amenizar a imensurável destruição ambiental
provocada pela construção da usina. Neste processo, as comunidades que habi-
tavam estas ilhas foram sufocadas, de um lado pela cheia do rio e de outro pela
artimanha preservacionista que impossibilitou a manutenção de suas vidas nos
territórios que tradicionalmente ocupavam. Francisco Vitorino da Silva, ilhéu, no
seu depoimento, mostra sua indignação,
(...) 1977 a primeira grande (cheia), 1979 fecharam a Itaipu, em 1980 deu
aquela grandona. Nos tiraram o direito de viver aqui e jogaram à margem
miolo_geografia_UFF.indd 152 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 153
das periferias da cidade, ou debaixo de lona nos acampamentos. Eu diria que
nunca ouvi falar em nenhum lugar do mundo onde as pessoas fossem expulsas
de sua própria casa (...). (NOVA CARTOGRAFIA SOCIAL, 2009b, p. 10)
No limiar do século XXI, comunidades tradicionais seguem sendo expulsas
de seus territórios em prol da implantação predatória de grandes empreendimen-
tos. Rodovias, portos, usinas e pequenas centrais hidrelétricas constituem hoje as
principais faces da expansão do projeto desenvolvimentista guiado pela lógica da
exportação de bens primários e pelos interesses do capital financeiro, articulada
aos engenhosos arranjos de financiamento, onde o Banco Nacional de Desenvol-
vimento (BNDES) ganha importante destaque.
A ameaça de construção de outras represas, de usinas de processamento de ci-
mento, madeira ou celulose e até a contaminação por desastres ambientais decor-
rentes de vazamento de nafta e diversos tipos de óleo na Bahia de Paranaguá con-
tinuam oferecendo riscos de expulsão para várias comunidades autocartografadas.
A dissimetria é manifesta na hora de interpor os direitos dessas comunidades
frente às necessidades do desenvolvimento que essas grandes obras encarnam.
O desenvolvimento a qualquer custo que dá sentido ao modelo primário-ex-
portador continua sendo a estratégia prioritária em qualquer lugar. O pior é que a
onda de sustentabilidade que supostamente viria a disciplinar esses despropósitos
ambientais cria outra série de problemas que convergem na expropriação dos
territórios das comunidades tradicionais.
O ardil da sustentabilidade
A chamada “ambientalização” dos conflitos sociais (LOPES, 2006; ACSEL-
RAD, 2010) retrata uma progressiva participação desses temas não só nos entra-
ves sociais, mas também na forma em que os movimentos sociais expõem suas
reivindicações. No caso dos grupos analisados no Paraná e em Santa Catarina a
partir dos 17 automapeamentos registrados, essa “ambientalização” ganha feições
contraditórias ou no mínimo ambíguas.
Por exemplo, ilhéus, pescadores artesanais, cipozeiros e benzedeiras registram
problemas com a criação de unidades de conservação de proteção integral que
limitam suas possibilidades de reprodução. A proibição de continuar fazendo
hortas, de caçar ou de extrair alguns produtos da mata são imposições que essas
miolo_geografia_UFF.indd 153 30/01/17 17:16
154 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
unidades determinam, ainda quando não existe um plano de manejo que regu-
lamente os usos (como no caso do Parque Nacional do Superagui, onde após 25
anos de criação do mesmo o plano ainda não foi aprovado) ou foram construídos
sem a participação efetiva das populações. Luiz Castanho Cunha, pescador arte-
sanal afirma de forma clara,
O pescador vivia, antigamente nossos pais vivia, como eu também ia plantá
com meu pai, nós vivia da roça, pescava e vivia da roça, só que depois que o
Ibama entrô aqui quando veio o Parque Nacional, aí não teve condição de fazê
mais roça, nem pra cortá um quilo de cipó, se você for cortá um quilo de cipó
você é multado, dá até cadeia pra você, é a situação que a gente tá. Não só o
Ibama, mas o IAP e a Força Verde também. Não tem condição de fazê mais
nada. (NOVA CARTOGRAFIA SOCIAL, 2010, p. 5)
Apesar dos conflitos gerados, o que pudemos perceber é que as populações não
são contra a criação de unidades de conservação. O problema reside em que essas
unidades são implantadas nos seus territórios em virtude da conservação histórica
que as próprias comunidades promoveram (e que singularizam esses espaços em
relação ao seu entorno), mas limitam as formas de uso dos bens naturais até o
ponto de impedir a própria reprodução social das famílias moradoras. A exclusão
dos seus saberes e de suas práticas resulta manifesta na sua relação com os gestores
das unidades de conservação de proteção integral108. Os conhecimentos de uma
ciência moderno-ocidental que separa homem e natureza rejeitam as complemen-
taridades que esses grupos estabelecem.
Resulta interessante como essa cisão entre homem e natureza cria dois proble-
mas para as comunidades tradicionais: por um lado, a ideia da submissão da na-
tureza aos fins de acumulação dos homens sustenta o modelo de desenvolvimento
destruidor que apontávamos nos itens anteriores; por outro lado, a proteção da
natureza que deixa fora o humano, como compensação da lógica anterior, nega a
importância desses grupos na construção da própria natureza existente em toda
sua diversidade.
108 O próprio Ministério Público Federal, através da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão (CCR), admite:
“(...) deslizes semânticos e os equívocos de aplicação dos dispositivos da Lei n. 9.985/2000, que criou o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, e que impõe, em alguns de seus preceitos,
restrições em desconformidade com os tratados internacionais de direitos humanos e com a própria Cons-
tituição Federal” (6ª CCR, 2014, p. 17).
miolo_geografia_UFF.indd 154 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 155
A contradição é só aparente. O modelo de desenvolvimento que considera a
natureza como um obstáculo e que, portanto, deve ser dominada, se complementa
com o desenvolvimento sustentável que não coloca em questão a destruição e a con-
taminação geral, mas recomenda reduzir o ritmo e negociar espaços de destruição (o
sistema não pode parar!) e conservação de modo a preservar uma natureza residual,
remedo museológico onde lembra a exuberância natural de outros tempos.
Em todo caso, as estratégias das comunidades ganham uma adaptabilidade
excepcional. Ao mesmo tempo em que alguns locais sofrem com esse modelo
“amável” do desenvolvimento sustentável compensatório, outros solicitam uni-
dades de conservação de uso sustentável (menos restritivas) para garantir sua in-
tegridade territorial e se proteger dos assédios dos protagonistas do modelo pri-
mário-exportador. Reivindicações de Reservas de Desenvolvimento Sustentável
em faxinais ou Reservas Extrativistas para pescadores artesanais são alguns dos
caminhos encontrados.
Diante desse amplo leque de confrontos e de geração de sentidos contrapos-
tos, percebe-se que as cartografias sociais possuem potencial para exercer um im-
portante papel político nas disputas territoriais, quando utilizadas pelos povos e
comunidades tradicionais para tal fim. A relevância do automapeamento nestes
processos aparece marcada pela noção de “guerra dos mapas”, “processo de dispu-
ta entre diversas forças sociais pela capacidade de configurar e delimitar represen-
tações cartográficas e lutar por uma definição legítima que seja capaz de fazer valer
seus interesses e pretensões” (ACSELRAD; VIÉGAS, 2013, p. 31).
Esta dinâmica envolve a afirmação de territorialidades específicas e a poli-
tização da cultura e da identidade. Trava-se em processos de resistência e luta
pela manutenção do direito ao território tradicionalmente ocupado e, em geral,
materializam experiências organizativas importantes, com uma mais efetiva apro-
priação do processo de mapeamento pelos grupos sociais que o constroem. Estes
atores, movidos pelo direito à autodeterminação sobre a reprodução de suas vi-
das, travam batalhas que transitam entre a materialidade e a subjetividade de sua
existência, “marcando diferenças culturais e construindo signos identitários de
pertencimento de maneira relacional, embasando demandas por reconhecimento
territorial” (ACSELRAD, 2010, p. 27).
Nesse sentido, as cartografias sociais destes grupos expressam, de maneira
pontual, mas paradigmática, a conflitualidade existente entre racionalidades anta-
gônicas. A oposição à lógica desenvolvimentista se explicita na espacialização das
miolo_geografia_UFF.indd 155 30/01/17 17:16
156 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
práticas sociais ameaçadas e dos conflitos grafados nestes mapas em ícones que
representam as múltiplas frentes de atuação do desenvolvimento. Como mostra-
mos, os ícones que manifestam o padrão multifacetado e heterárquico do desen-
volvimento são diversos: a exploração do trabalho artesanal; as ameaças aos ofícios
tradicionais; os impactos socioambientais (barragens e desmatamento etc.); as
medidas preservacionistas impactantes à reprodução social; os monocultivos; o
envenenamento e a contaminação da água; o preconceito étnico; a repressão das
igrejas e dos médicos em relação às práticas tradicionais de cura etc.
Enfim, a relevância dos conflitos expressados nas cartografias estudadas dispa-
ram os alarmes de um modelo de desenvolvimento intransigente frente a outras
racionalidades, outros valores, outros usos etc. A construção desse outro proble-
mático, fora da norma, arcaico e condenado a desaparecer, choca com a teimosia
de quem r-existe (PORTO-GONÇALVES, 2002), mobilizando múltiplas estra-
tégias e oferecendo caminhos civilizatórios outros.
Essas r-existências que os povos e comunidades tradicionais realizam e que
registram desde suas autocartografias nos oferecem um ponto inicial desde o qual
interpelar esse desenvolvimento multifacetado que reflete e constrói ordem social
com múltiplas hierarquias.
A gramática de um desenvolvimento heterárquico frente às narrativas
de um “pós-desenvolvimento popular”
A crítica pós-estruturalista do desenvolvimento, agrupada nos anos 1990 em
um conjunto diverso de autores e propostas sob o termo pós-desenvolvimento,
marca uma ruptura com as teorias anteriores que o analisam desde a perspectiva
de sua evolução “naturalizada” no pensamento social e econômico.
A primeira e mais radical diferença consiste em que, no marco dessa crítica,
o desenvolvimento consistiria em um conjunto de discursos, práticas e institui-
ções que produzem, às vezes de forma performática, “verdades” situadas. Nesse
sentido, os autores sinalizam o discurso de Harry S. Truman em 1949 como o
momento-chave em que se estabelece uma linha imaginária (mas que produz
contundentes efeitos reais sobre as formas de vida da população mundial) divi-
dindo o planeta entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos com base
em parâmetros moderno-ocidentais de qualidade de vida109.
109 No discurso de 20 de janeiro de 1949, Truman propõe estabelecer una política de ajuda aos países sub-
desenvolvidos para provê-los do conhecimento técnico e científico para produzir mais (a melhor forma de
miolo_geografia_UFF.indd 156 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 157
Seja ou não possível (e adequado) circunscrever o “nascimento” do desenvol-
vimento a uma data determinada, essa estratégia analítica do pós-desenvolvimen-
to enfatiza os efeitos de poder que marcam a retórica do desenvolvimento e as
práticas que o materializam. Longe de pretender melhorar o desenvolvimento e
sua aplicação, desde o pós-desenvolvimento se persegue “desfamiliarizar” sua pro-
posta, desconstruir sua imagem positiva. Como afirma Gustavo Esteva (2009),
“Desenvolvimento” significa sacrificar proximidades, solidariedades, interpre-
tações e costumes tradicionais no altar da sempre mutável assessoria dos espe-
cialistas. “Desenvolvimento” promete enriquecimento. Para a grande maioria,
sempre significou a modernização da pobreza: a crescente dependência da con-
dução e administração de outros. (p. 2)
A modernização que o desenvolvimento formaliza se encaixa na estreita e ins-
trumentalizada racionalidade ocidental que planeja, fortalece e/ou acelera a acu-
mulação do capital, porém sempre com o complemento de estratégias de controle
social presentes e de grande relevância. Diante dessa intensa complementaridade,
o pós-desenvolvimento, sem suprimir a crítica das formas de acumulação, vai dar
mais ênfase aos efeitos de poder e controle que os discursos, as práticas e a insti-
tucionalidade do desenvolvimento apresentam.
Com esse deslocamento do centro de interesse, para incorporar com mais
força a complexidade da dominação, a literatura pós-desenvolvimentista vem
gerando um sistemático relato das catástrofes do desenvolvimento que povoa-
ram, junto com outras leituras, posicionamentos contrários aos desígnios de-
senvolvimentistas.
A lógica impositiva que o desenvolvimento exerceu ao longo do século XX110,
e que supostamente se “humanizou” no século XXI, incorporando a participação
e a pluralidade de sujeitos alvo, gerou todo um contradiscurso (e umas contraprá-
alcançar a paz e a prosperidade), aliviar seu sofrimento e atingir suas aspirações de uma vida melhor. Nesse
sentido, o American way of life se estabelece como o modelo a seguir. O discurso original pode ser consul-
tado em: <http://avalon.law.yale.edu/20th_century/truman.asp>.
110 Segundo Ramón Grosfoguel (2007, p. 67), o desenvolvimento faria parte de uma matriz colonial de impo-
sição e violência: “Nos últimos 510 anos de sistema-mundo europeo/euro-americano capitalista/patriarcal/
moderno-colonial passamos do “cristianiza-te ou te disparo” no século 16, ao “civiliza-te ou te disparo” no
século 19, ao “desenvolve-te ou te disparo” no século 20, ao “neoliberaliza-te ou te disparo” no final do
mesmo século, e ao “democratiza-te ou te disparo” a inícios do século 21.
miolo_geografia_UFF.indd 157 30/01/17 17:16
158 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
ticas) que foram perdendo o respeito de um desenvolvimento representado como
a melhor (e única) saída para os destinos da humanidade.
O álibi das falhas do mercado, da inconsistência institucional dos países sub-
desenvolvidos ou da necessidade de ir cumprindo com certas fases (como degraus
de uma escada) no processo de atingir o sonhado desenvolvimento perdeu pau-
latina e duplamente sua consistência: em função dos fracassos que os programas
de desenvolvimento acumulavam; e em função dos impactados perceberem no
desenvolvimento muito mais uma estratégia de dominação que um processo de
melhora real da qualidade de vida (para o qual as narrativas críticas pós-desenvol-
vimentistas ajudaram enormemente).
No entanto, não se trata apenas de uma crítica acadêmica, teórica e descom-
promissada, como os detratores afirmam111. De igual forma que Joan Martínez
Alier (2007, p. 148) define o ecologismo popular (ou ecologismo dos pobres)
como as “experiências de resistência popular e indígena (...) [que] parecem ir
contra o curso da história contemporânea, que consiste na vitória constante do
capitalismo”, poderíamos definir simplificadamente um “pós-desenvolvimentis-
mo popular” como as resistências que comunidades de diversa índole exercem
frente à estreiteza do desenvolvimento, buscando antepor suas práticas de vida
sustentadas por racionalidades outras às imposições mercantilizadoras do projeto
desenvolvimentista. São comunidades que,
Em vez de destruir, para que se possam liberar das cadeias econômicas que
os prendem, imaginam sua resistência como uma reconstituição criativa das
formas básicas de interação social. Criaram assim, na vizinhança de suas casas,
aldeias, bairros, novos espaços coletivos que lhes permitam viver segundo seus
próprios termos. (ESTEVA, 2000[1992], p. 77)
Seguindo com esse paralelismo, outra das características do ecologismo po-
pular nos permite mostrar também o que pretendemos apontar como o lado
popular do pós-desenvolvimento. Se Alier (2011, p. 34) afirma que o ecologis-
mo popular “assinala que muitas vezes os grupos indígenas e camponeses têm
coevolucionado sustentavelmente com a natureza e têm assegurado a conserva-
ção da biodiversidade”, nessa mesma linha, as comunidades evocadas por Esteva
111 Para entrar em contato com as principais críticas desta corrente, consultar: Peet (2007), Escobar (2005) e
Radomsky (2011).
miolo_geografia_UFF.indd 158 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 159
(2000[1992], p. 77), aquelas formadas por pessoas ditas marginalizadas, para as
quais “desligar-se da lógica econômica do mercado ou do plano tornou-se uma
condição primordial para a sua sobrevivência”, mostram como atitude habitual
essa necessidade de pensar e atuar desde a distância do programa fechado e exclu-
dente do desenvolvimento. Se a relação de interação equilibrada com a natureza,
segundo Alier, se baseia em um interesse material em função da subsistência do
grupo, acontece de forma similar com o desenvolvimento. Essas comunidades,
para poder conservar/atualizar suas formas de aproveitamento dos diferentes bens
comuns que mantêm no seu território, precisam, em muitos casos, se defender
dos discursos, práticas e institucionalidades de um desenvolvimento que simples-
mente lhes nega a existência imediata, ou em outros casos de negociar concessões
e possibilidades que lhes garanta certa continuidade com o menor custo possível
em níveis de autonomia.
“Pós-desenvolvimento popular” nos povos e comunidades tradicionais
Para tentar ilustrar melhor esse “pós-desenvolvimento popular” que estamos
tentando retratar, retomamos brevemente a análise das 17 autocartografias realiza-
das no Paraná e em Santa Catarina, desta vez dando maior prioridade às práticas
que as comunidades visibilizaram nos mapas e não aos conflitos que protagonizam.
A iconografia sobre as práticas das comunidades é extremamente rica e se divide
normalmente nas práticas produtivas e de aproveitamento dos bens naturais e nas
práticas culturais. Em relação às primeiras, trata-se de um catálogo generoso de
atividades que “desnaturalizam” a racionalidade do homo economicus da moderni-
dade-ocidental desenvolvimentista, mostrando que é possível uma valorização de
práticas marcadas em muitas ocasiões pelo trabalho comunitário, pelas técnicas de
coleta de baixo impacto e pela prioridade para a reprodução familiar autônoma (ou
com a maior autonomia que pode ser conquistada), sempre um desafio muito difí-
cil em função da persistência heterônoma do projeto do desenvolvimento.
O trabalho comunitário, mutirão ou “puxirão”, como alguns grupos deno-
minam, ainda aparece como prática comum em muitas cartografias. Por exem-
plo, os pescadores artesanais da Vila de Superagui mapearam a ajuda mútua
para varar e “desvarar” o barco e para fabricá-lo, assim como algumas técnicas
de pesca em conjunto ou a limpa do pescado pelas mulheres. A fábrica de fa-
rinha de mandioca também indica uma atividade realizada comunitariamente,
no entanto, hoje se encontra no limite entre o que ainda se faz e o que as co-
miolo_geografia_UFF.indd 159 30/01/17 17:16
160 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
munidades desejariam recuperar, em função das limitações que a existência do
Parque Nacional lhes impõe.
Os faxinalenses ainda mantêm várias formas de trabalho comunitário, como a
proteção das nascentes e a manutenção das cercas e dos valos do criadouro comu-
nitário onde os animais são criados à solta. A coleta do pinhão ou a produção de
erva-mate também envolvem “puxirões” em alguns casos. O faxinalense Hamil-
ton José de Souza retrata com clareza essas lógicas outras que sustentam o faxinal:
(...) os faxinalenses não pensam em ter títulos de terra ou ter dívida e preten-
dem permanecer nessa cultura porque é uma herança que herdaram dos seus
pais e dos seus avós e por isso nós achamos importante permanecer essa vivên-
cia, permanecer essa vivência em comum com o uso da terra coletivo. (NOVA
CARTOGRAFIA SOCIAL, 2008)
Em referência às técnicas artesanais de coleta e plantio, a diversidade de prá-
ticas é grande. O cuidado com que os cipozeiros extraem vários produtos da
mata sem prejudicar sua reprodução (cipó-imbé, bambu, musgo verde, taboa,
samambaia etc.) resulta muito semelhante com a preocupação das benzedeiras de
abastecer sua “farmacinha de remédios caseiros” (como registram na sua autocar-
tografia) com plantas coletadas em diferentes pontos do seu território de atuação,
ou dos agricultores e pescadores tradicionais dos Areais da Ribanceira na hora de
aproveitar um ecossistema tão frágil coletando butiás ou plantando roças itine-
rantes de mandioca. Em todo caso, são formas de produção de baixo impacto,
centradas fundamentalmente na reprodução da comunidade e residualmente na
venda nos mercados locais para assegurar uma renda monetária.
Inseridos na dinâmica social de acumulação capitalista, estas comunidades
apresentam ao mesmo tempo uma resistência e uma adaptabilidade que transfor-
mam o sentido do que significa tradicional. Longe de um essencialismo refratário
às mudanças, a tradicionalidade destes grupos se constitui nos conflitos, na me-
diação com um cotidiano que apresenta avanços e retrocessos em relação à manu-
tenção de suas formas de vida. Como afirma Almeida (2008, p. 30), “a noção de
‘tradicional’ não se reduz à história, nem aos laços primordiais que amparam uni-
dades afetivas, e incorpora as identidades coletivas redefinidas situacionalmente
em uma mobilização continuada”. Portanto, não se trata de uma tradicionalidade
essencialista e sim de uma tradicionalidade em uma contínua negociação para
miolo_geografia_UFF.indd 160 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 161
manter margens de autonomia e de respeito para formas de vida e de apropriação
dos territórios que enfrentam o senso comum desenvolvimentista.
Nessa tensão também sobrevivem as práticas culturais dessas comunidades:
entre a desaparição pelo descaso das novas gerações e a revalorização como espaço
de sociabilidade e resistência que costura o sentido comunitário e permite vislum-
brar um futuro em comum. Mantêm-se atividades ligadas a aspectos religiosos
como a manutenção de capelas e dos olhos d’água e das cruzes de cedro do Monge
São João Maria (protagonista mítico da Guerra do Contestado) ou das festas de
São Gonçalo, do Divino ou do Terço de Bandeira. Mas também existem práticas
relacionadas a momentos lúdicos e organizativos não necessariamente religiosos
(ainda que seja difícil de fazer essa distinção na realidade) como o fandango, o
Boi de Mamão, os trovadores, os clubes de mães ou da terceira idade e os cam-
peonatos de futebol. Nessa pluralidade, as diferenças com a cultura massificada e
mercantilizada da sociedade continuam sendo evidentes, ainda que não haja ne-
nhum desprezo pelos avanços no mundo da comunicação e da informática nessas
comunidades, como mostra a capacidade de apropriação das técnicas básicas da
cartografia social que as comunidades realizam (fotografia, filmagem, gravação de
voz, uso de GPS e softwares de SIG, vetorização de legendas etc.).
Em definitivo, o que queremos enfatizar com essa breve incursão nas práticas
das comunidades tradicionais é como seu cotidiano mostra uma relação sempre em
tensão com as diretrizes do desenvolvimento moderno-colonial que se mostra he-
gemônico na sociedade atual. Desde o ponto de vista da reprodução econômica ou
social, dos saberes mobilizados, da relação com a natureza ou do respeito dos bens
comuns, essas comunidades mostram um distanciamento (sempre em negociação,
sempre relativo) do desenvolvimento, um certo “pós-desenvolvimento popular”.
Diante dessa situação, é possível pensar boa parte da crítica pós-desenvolvi-
mentista como uma relação entre um conjunto de práticas cotidianas de resistên-
cia, mas sobretudo de afirmação de formas de vida outras, que desconstroem a
(im)possibilidade hegemônica e homogeneizadora das diretrizes do desenvolvi-
mento e um conjunto de autores, de argumentos e de conceitos que se retroali-
mentam dessas práticas e as utilizam, junto com bases teóricas pós-estruturalistas
e pós-coloniais, como sustentação para desmontar o halo científico e inelutável
do desenvolvimento e “desnaturalizá-lo”.
O pós-desenvolvimento, no entanto, não se configura como a única media-
ção fértil para pensar a construção de um pensamento crítico sobre a relação
miolo_geografia_UFF.indd 161 30/01/17 17:16
162 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
desenvolvimento e comunidades tradicionais. De forma meramente descritiva,
portanto com uma pretensão muito mais de localização de possibilidades que de
análise sistemática, a seguir incorporamos algumas referências que nos ajudam a
avançar na crítica.
Breve panorama crítico acerca da relação desenvolvimento/comunida-
des tradicionais: as ferramentas
Na introdução deste texto apontávamos como desafio percorrer a relação en-
tre desenvolvimento e comunidades tradicionais na tentativa de avançar em um
pensamento crítico que colocasse em questão da ordem moderno-colonial do
primeiro como imposição cotidiana sobre as segundas. Reconhecendo que essa
pretensão só é possível em um debate de participação coral e de maior fôlego,
nesse momento gostaríamos de registrar algumas coordenadas possíveis.
Se o caminho sugerido pelo pós-desenvolvimento, como vimos, baliza a confi-
guração de um conjunto de críticas contundentes, trazemos neste momento outras
duas sugestões para avançar na diversificação de um lugar de enunciação contra o
desenvolvimento: o debate entre políticas de redistribuição e políticas de reconheci-
mento e a heterarquia da dominação expressa nas narrativas descoloniais.
Apesar de provirem de âmbitos de discussão diferentes, o que pretendemos
ressaltar é que, para entender os efeitos complexos que o desenvolvimento causa
nas comunidades tradicionais, precisamos de ferramentas que nos permitam re-
conhecê-lo, ao mesmo tempo, em uma dualidade complementar e não negadora:
como acelerador planejado da acumulação capitalista e como estratégia de contro-
le social. Enfim, desde uma dimensão mais econômica, mas também desde uma
dimensão relacionada com um poder que se expressa de forma multifacetada.
Essa dupla vertente, pensamos, retrata-se com detalhe no debate entre redis-
tribuição e reconhecimento e, ao mesmo tempo, se aproxima de uma compre-
ensão das problemáticas levantadas pelas demandas dos povos e comunidades
tradicionais. Para uma breve descrição, tomamos emprestado o trabalho de Valter
do Carmo Cruz (2013) sobre o tema, em que incorpora o pensamento da filó-
sofa estadunidense Nancy Fraser para fazer uma leitura da emergência de novos
sujeitos políticos no campo brasileiro (especialmente comunidades tradicionais).
Cruz (2013, p. 138) cita Fraser para delimitar o debate:
miolo_geografia_UFF.indd 162 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 163
De algum tempo para cá, as forças da política progressista dividiram-se em dois
campos. De um lado, encontram-se os proponentes da “redistribuição”. Apoian-
do-se em antigas tradições de organizações igualitárias, trabalhistas e socialis-
tas, atores políticos alinhados a essa orientação buscam uma alocação mais justa
de recursos e bens. De outro lado, estão os proponentes do “reconhecimento”.
Apoiando-se em novas visões de uma sociedade “amigável às diferenças”, eles
procuram um mundo em que a assimilação às normas da maioria ou da cultura
dominante não é mais o preço do respeito igualitário. Membros do primeiro
campo esperam redistribuir a riqueza dos ricos para os pobres, do Norte para o
Sul, e dos proprietários para os trabalhadores. Membros do segundo, ao contrá-
rio112, buscam o reconhecimento das distintas perspectivas das minorias étnicas,
“raciais” e sexuais, bem como a diferença de gênero.
Em função dessa situação, Fraser distinguiria duas concepções de injustiça
que são delineadas no texto de Cruz (2013): “do ponto de vista distributivo,
a injustiça tem origem sob a forma de desigualdades semelhantes às de classe,
baseadas na estrutura econômica da sociedade” (p. 143); “do ponto de vista do
reconhecimento, por contraste, a injustiça surge sob a forma de ‘subordinação de
status’, assentada nas hierarquias institucionalizadas de valor cultural” (p. 143).
Mas também, a autora estadunidense diferenciaria entre duas concepções de jus-
tiça associadas: por um lado, a justiça associada à redistribuição estaria relacio-
nada à “transferência de rendimentos, mas também à reorganização da divisão
do trabalho, bem como a transformação da estrutura da posse da propriedade e
a democratização dos processos através dos quais se tomam decisões relativas aos
investimentos públicos” (p. 143); no lado da justiça associada ao reconhecimento,
significaria implementar tanto “medidas que incluam não só reformas que visam
revalorizar as identidades desrespeitadas e os produtos culturais de grupos, mas
também os esforços de reconhecimento e valorização da diversidade” (p. 144),
como “esforços de transformação de ordem simbólica e de desconstrução das
diferenciações de status existentes” (p. 144).
Nos últimos tempos, sempre segundo Fraser e Cruz, haveria um deslocamento
das lutas sociais ligadas à redistribuição para as que se centram na ideia de reconhe-
cimento, no entanto, isso traz uma situação ambivalente, já que, da mesma forma
112 No texto original de Nancy Fraser (2001, p. 21) a palavra utilizada é “in contrast” (“Members of the se-
cond, in contrast, seek recognition of the distinctive perspectives...”, grifos nossos), que não necessariamente
deveria ser utilizada no sentido dicotômico de “ao contrário”.
miolo_geografia_UFF.indd 163 30/01/17 17:16
164 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
que se percebe uma ampliação nas críticas das formas de dominação (para além
dos paradigmas economicistas) quando se disputa o direito a ser reconhecido como
diferente, não é tão evidente que isso fortaleça per se as demandas por redistribui-
ção, ao contrário, em alguns casos se percebe uma fragmentação das lutas por essas
demandas. Conseguir articular ambas (como duas lentes que se superpõem na hora
de focar a realidade) é um desafio que segundo a filósofa teria a ver com afastar os
processos de reconhecimento das políticas de identidade, já que estas acabam ten-
tando configurar grupos homogêneos que escondem as disputas internas. Frente a
isso, uma verdadeira justiça “bifocal” radicaria na possibilidade de real participação
e representação na sociedade em geral e dentro dos grupos em particular.
Com estes pontos de partida, Cruz (2013) vai problematizar a emergência
das lutas dos povos e comunidades tradicionais no Brasil (e com referências
explícitas e pertinentes à América Latina), no sentido de pensar como se dá
a relação entre estes, mais ligados à questão do reconhecimento (identidades
coletivas baseadas em costumes em comum), e os grupos vinculados à questão
da redistribuição (lutas contra a exploração, a marginalização e pela terra). O
autor, moldando os argumentos de Fraser, mobiliza a importância do território
como campo de articulação,
(...) quando se afirma que esses grupos sociais não lutam somente por terra mas
também por território, estamos afirmando que as suas concepções de emanci-
pação e justiça são mais complexas, pois abarcam dois eixos simultaneamen-
te, o eixo da redistribuição e o eixo do reconhecimento. Trata-se do recurso
material, a terra, mais a cultura, o modo de vida, transformando a terra em
território. (CRUZ, 2013, p. 169)
Nesse sentido, o desafio na sociedade brasileira seria construir uma “concep-
ção/prática de justiça e de emancipação social” (CRUZ, 2013, p. 169) que costu-
re a redistribuição igualitária da terra (luta anticapitalista), o reconhecimento dos
territórios (também uma luta pela descolonização do Estado e da sociedade) e a
ampliação da democracia (luta pela participação equilibrada dos grupos).
Os efeitos da corrida pelo desenvolvimento sobre as comunidades tradicionais
constituem geneticamente boa parte dessas lutas por redistribuição e por reco-
nhecimento. A forma em que os bens comuns foram cercados, privatizando-os e
mercantilizando-os ou em que as grandes obras e o paradigma de uma sustentabi-
miolo_geografia_UFF.indd 164 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 165
lidade apoiada em unidades de conservação sem presença humana expropriaram
e expulsaram as comunidades dos seus territórios, é o caldo de cultivo da profusão
de conflitos por terra e por território.
O interessante é perceber que os enfrentamentos contra o desenvolvimento
que, explícita ou implicitamente, esses movimentos de resistência fazem, quando
se pensa em termos de redistribuição e reconhecimento, nos permitem reconhe-
cer o desenvolvimento em sua dupla dimensão: acumulação de capital e controle
social. Se o desenvolvimento produz, evidentemente, concentração, mercantili-
zação ou expropriação, não podem ser deixados de lado seus efeitos de controle
sobre o imaginário social e suas representações, de forma a apagar as diferenças
existentes entre as diferentes comunidades existentes. Um controle que cada vez
capta mais a diversidade na tentativa de homogeneizá-la ou de marginalizá-la
como peça de museu.
A justiça redistributiva enfrenta os discursos, as práticas e a institucionalidade
do desenvolvimento reivindicando, como apontávamos anteriormente a partir
de Fraser e Cruz, maiores transferências de rendimentos, reorganização da di-
visão do trabalho, transformação das formas de propriedade etc. A justiça do
reconhecimento reivindica a valorização das identidades e dos produtos culturais
desses grupos. Em qualquer caso, duas faces da mesma moeda que interpelam e
comprometem o sonho dourado do desenvolvimento, na sua dupla articulação de
acumulação/expropriação capitalista e de integração/disciplinamento social. Uma
dualidade onde suas partes não se negam, mas se complementam.
A segunda ferramenta analítica que propomos, a heterarquia da dominação
expressa nas narrativas descoloniais, articula também essa dualidade, mas esten-
de em maior medida (e de forma extremamente sugestiva) as possibilidades de
compreensão dos mecanismos de controle/imposição social. No próximo item
adentramos com maior atenção nessas narrativas descoloniais, no entanto, nesse
momento apenas as incorporamos como possibilidade de construir uma leitura
complexificada da relação desenvolvimento/comunidades tradicionais ao redor
dessa dualidade complementar.
Ramón Grosfoguel (2008) e Anibal Quijano(2010) se inscrevem nessa arti-
culação da dualidade acumulação/controle, desde um catálogo detalhado e mul-
tidimensional das formas de dominação no sistema-mundo moderno-colonial,
que podemos perceber como o contexto onde o desenvolvimento se planeja e se
implementa de forma moderno-colonial.
miolo_geografia_UFF.indd 165 30/01/17 17:16
166 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Grosfoguel (2008)esboça um conjunto de “hierarquias globais enredadas e
coexistentes no espaço e no tempo” (p. 122) que formaram o projeto da coloni-
zação das Américas, mas que perduram até hoje, com ajustes, na colonialidade
em curso: uma específica formação de classes que articula diversas formas de tra-
balho e de abertura ao mercado mundial; “uma divisão internacional do trabalho
entre centro e periferia”; “um sistema interestatal de organizações político-milita-
res controladas por homens europeus”; “uma hierarquia étnico-racial global que
privilegia os povos europeus”; “uma hierarquia global que privilegia os homens
relativamente às mulheres”; “uma hierarquia sexual que privilegia os heterosse-
xuais relativamente aos homossexuais e lésbicas”; “uma hierarquia espiritual que
privilegia os cristãos relativamente às espiritualidades não cristãs/não europeias”;
“uma hierarquia epistêmica que privilegia a cosmologia e o conhecimento oci-
dentais relativamente ao conhecimento e às cosmologias não ocidentais”; e “uma
hierarquia linguística entre as línguas europeias e não europeias que privilegia a
comunicação e a produção de conhecimento e de teorias por parte das primeiras,
e que subalterniza as últimas exclusivamente como produtoras de folclore ou cul-
tura” (GROSFOGUEL, 2008, p. 122-123).
O desenvolvimento produto desse sistema-mundo moderno-colonial se cons-
tituiria também na “interseccionalidade de múltiplas e heterogêneas hierarquias
globais (heterarquias)” (GROSFOGUEL 2008, p. 123), onde as três primeiras
hierarquias apontadas pelo autor fazem maior ênfase nas formas de acumulação
do capital e as seis seguintes detalhariam as formas de disciplinamento social
(sempre considerando a forte inter-relação entre todas).
No mesmo caminho, Quijano (2010) argumenta que a “matriz colonial de
poder é uma estrutura complexa de níveis entrelaçados” (p. 12), por isso, para ca-
racterizar a colonialidade do poder, o lado obscuro da modernidade que constitui
o sistema-mundo, temos que ter em conta cinco tipos de controles: da economia,
da natureza e dos recursos naturais, da autoridade, do gênero e da sexualidade e
da subjetividade e do conhecimento.
De novo acumulação (dois primeiros) e controle social (três últimos) enreda-
das para analisar a dinâmica social desde um posicionamento crítico. Propostas
que complexificam a forma de abordar esses processos sociais que moldam o sis-
tema-mundo moderno-colonial e multiescalarmente se expressam no cotidiano
dos sujeitos que lhe dão sentido.
miolo_geografia_UFF.indd 166 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 167
Pensar criticamente o desenvolvimento nessa dupla articulação abre generosas
possibilidades analíticas para entender seus impactos e as resistências que provoca
por parte das comunidades tradicionais, acima de tudo, na dimensão do poder
territorializado nelas. Esse poder multifacetário que se expressa mediante a impo-
sição de programas e ações que hierarquizam os saberes e fazeres da comunidade
como inferiores, como necessitados de desenvolvimento, como atrasados etc. Se
o desenvolvimento está localizado em uma raça, gênero, forma de conhecimento,
língua (linguagem) etc., também as resistências são situadas.
As narrativas descoloniais, na nossa opinião, proporcionam essa ferramenta
que nos possibilita adensar o entendimento sobre o lado obscuro do desenvolvi-
mento, esse lado colonial que se esconde sob o tapete da linguagem dos especialis-
tas e dos investimentos rutilantes. Mas também nos permitiriam entender melhor
as vozes e as ações de resistência das comunidades.
Em resumo, as relações entre a formulação de um “pós-desenvolvimento po-
pular” a partir da luta territorializada dos povos e comunidades tradicionais e o
“paradigma outro” da descolonialidade esboçam um aprofundamento na própria
desconstrução do desenvolvimento. Ao inscrever o desenvolvimento entre as nar-
rativas da modernidade e, portanto, do padrão colonial de poder moderno-oci-
dental, ou da colonialidade do poder, emergem algumas ferramentas teórico-me-
todológicas capazes de aprofundar a desconstrução deste projeto. De acordo com
Radomsky (2011, p. 150),
(...) a desconstrução do desenvolvimento adquire força ao descentrar o viés eu-
rocêntrico sob o qual está erigida a teoria social, o que introduz uma geopolíti-
ca da epistemologia e uma virada político-interpretativa para as contribuições
que se orientam pela noção geral de descolonização.
Porém, com essas narrativas críticas, percebemos a necessidade não só de uma
“revisão crítico-propositiva (...) da modernização via desenvolvimento, mas tam-
bém da modernidade como tal” (RADOMSKY, 2011, p. 156), de forma a tornar
visível “o silêncio imposto às alternativas à modernidade e ao desenvolvimento
que são efetuadas por movimentos sociais e comunidades resistentes” (p. 157).
Nesse sentido, avançar no diálogo com a descolonialidade se faz imprescindível.
miolo_geografia_UFF.indd 167 30/01/17 17:16
168 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
O desenvolvimento se inscreve na ordem da moderno-colonialidade
Uma crítica feroz ao universalismo abstrato que caracteriza o projeto do de-
senvolvimento, inscrevendo-o na trajetória do padrão de poder moderno-colo-
nial, parte do programa de investigação modernidade/colonialidade (M/C), cujo
debate se apresenta como um poderoso leque de perspectivas para a renovação do
pensamento crítico na América Latina. Este conjunto de reflexões deve ser vis-
to, não como um novo paradigma latino-americano, mas como um “paradigma
outro”, que não se encontra no interior de uma história linear de paradigmas ou
epistemes: ou seja, não deve ser integrado à história do pensamento moderno.
(...) el programa M/C debe ser entendido como una manera diferente del pen-
samiento, en contravía de las grandes narrativas modernistas – la cristiandad,
el liberalismo y el marxismo –, localizando su propio cuestionamiento en los
bordes mismos de los sistemas de pensamiento e investigaciones hacia la posi-
bilidad de modos de pensamiento no-eurocéntricos. (ESCOBAR, 2003, p. 54)
Nesse sentido, a crítica ao caráter intraeuropeu atribuído à modernidade se
fundamenta como uma das perspectivas elementares assumidas por este “para-
digma outro”. O deslocamento do “lugar de observação” e, portanto, do “lugar
de enunciação” evidencia um novo sentido para o fenômeno da modernidade. O
panorama crítico que se abre a partir deste debate, também referido como “giro
descolonial”, possui estreitas relações com a crítica do desenvolvimento como
agente produtor do tempo-espaço e, consequentemente, das formas de apropria-
ção do território. Este arranjo de práticas, discursos e instituições caracteriza o
âmago da modernidade globalizada na contemporaneidade, constituindo hoje
sua mais importante estratégia metanarrativa para a dominação multiescalar e
multidimensional da sociedade, seja enquanto acirramento da acumulação capi-
talista desigual ou estratégia multidimensional de controle social.
Uma das concepções fundamentais deste giro descolonial, o caráter indisso-
ciável da relação entre o moderno e o colonial resulta do fato de que o fim do
colonialismo não significou o fim da colonialidade. O padrão de poder no atual
sistema-mundo é marcado pela colonialidade nas instâncias de conhecimento,
nas múltiplas formas hierarquizadas de classificação social, na supremacia racial
europeia e na divisão internacional do trabalho. Este padrão se manifesta na pro-
dução de ausências e universalidades como o culto ao progresso, ao produtivo,
miolo_geografia_UFF.indd 168 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 169
ao desenvolvido, e na aniquilação do sujeito que não admite se adaptar ao rolo
compressor da modernidade. Para o sociólogo peruano Aníbal Quijano, a univer-
salização dos valores moderno-ocidentais implica:
(...) um piso básico de práticas sociais comuns para todo o mundo, e uma esfe-
ra intersubjetiva que existe e atua como esfera central de orientação valorativa
do conjunto. Por isso as instituições hegemônicas de cada âmbito de existência
social, são universais para a população do mundo como modelos intersubjeti-
vos. (QUIJANO, 2000, p. 223)
A constituição do imaginário do sistema-mundo moderno-colonial (QUIJA-
NO, 2000) conformou narrativas “universais”, desenhos globais criados a partir
de uma história local (europeia). A linearidade histórica, ou a construção da his-
tória a partir de uma sucessão linear de acontecimentos cuja centralidade sempre
se remete à Europa é uma dessas narrativas criadas pelo imaginário moderno-co-
lonial. Esta unilinearidade moderna ignora a existência simultânea do moderno
e do colonial como componentes de um mesmo processo no tempo e no espaço.
Tais efeitos, contudo, não se restringiram aos períodos de colonização do
mundo moderno. A modernidade funciona como uma narrativa europeia que se
esforça por esconder seu outro lado, a colonialidade, inclusive no mais policên-
trico mundo capitalista atual. O atual estágio do projeto desenvolvimentista que
se ampara na promessa da democracia, da participação e da pluralidade de sujei-
tos-alvo constitui apenas uma nova roupagem para o disfarce da colonialidade.
Os efeitos da retórica universal do desenvolvimento, ao impor-se sobre his-
tórias locais múltiplas e heterogêneas, mostram-se constitutivos do padrão co-
lonial de poder próprio da modernidade ocidental. Neste contexto, identificar
a colonialidade como fenômeno constitutivo da modernidade nos encoraja a
reconhecer a existência de heterogeneidades histórico-estruturais (QUIJANO,
2000; 2005), ou de heterarquias (GROSFOGUEL, 2008), a partir de duas en-
grenagens: a coexistência histórica e heterogênea de diferentes formas de subal-
ternização e produção de ausências (heterarquias da dominação); e a coexistência
histórica e heterogênea de distintas práticas sociais e territorialidades múltiplas
(heterarquias da resistência).
miolo_geografia_UFF.indd 169 30/01/17 17:16
170 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Heterarquias da dominação
O padrão heterárquico que articula a coexistência de múltiplas e enredadas
formas de dominação e controle aparecem na grafia dos povos tradicionais a par-
tir da denúncia de seus conflitos. A produção destes grupos como não existentes,
ou o fenômeno da invisibilidade (como eles se referem), resulta da coexistência
heterárquica de diversas formas de subalternização e classificação social, que con-
tradizem modelos etapistas e de linearidade histórica.
Nesse sentido é que a noção de heterarquia é apresentada por Grosfoguel
(2008 p. 124) como “uma enredada articulação de múltiplas hierarquias, na
qual a subjectividade e o imaginário social não decorrem das estruturas do siste-
ma-mundo mas são, isso sim, constituintes desse sistema”. A heterarquia é uma
característica estrutural do padrão colonial de poder por sua capacidade de en-
raizar-se de forma, ao mesmo tempo, simultânea, descontínua e conflitiva sobre
múltiplas formas de subalternização (ou produção de ausências).
Articulando referências de diversas procedências epistemológicas, Ramón Gros-
foguel propõe um deslocamento de perspectiva na geopolítica do conhecimento ao
tecer uma rede de estruturas heterárquicas de poder a partir da exposição de diferen-
tes hierarquias imbricadas que foram mencionadas no ponto anterior.
A noção de heterarquia trazida por Grosfoguel esmiúça a noção de hetero-
geneidade histórico-estrutural, que preconiza sobre a coexistência de múltiplas
formas de exploração do trabalho e formas de existência social. O continente lati-
no-americano é atravessado em toda sua história, da conquista ao neoliberalismo
(e ao neodesenvolvimentismo!), por múltiplas e simultâneas formas de controle
do trabalho e das subjetividades humanas: escravidão, servidão, acumulação pri-
mitiva e por espoliação, racismo, machismo, patriarcado, violência epistêmica
etc. A condição de subalternização imposta aos povos e comunidades tradicionais
revela, a partir da ótica dos conflitos, o seu padrão heterárquico, ao articular de
maneira combinada, simultânea e interdependente diferentes formas de domina-
ção. Não se trata de efeitos derivativos de uma lógica única e exclusiva de produ-
ção de injustiças, mas sim de uma rede intersecional de hierarquias, que podemos
perceber ao redor de dois grandes eixos, mas não limitados a eles: a acumulação
capitalista e formas de controle social.
As heterarquias que se manifestam nos conflitos denunciados pelos povos
tradicionais – e daí uma possível potencialidade descolonizadora da cartografia
miolo_geografia_UFF.indd 170 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 171
social – desconstroem a ideia de um pretenso projeto de desenvolvimento coeso e
homogêneo. O desenvolvimento como expressão atual da colonialidade do poder
é em si heterárquico, e combina em suas instâncias múltiplas formas entrelaçadas
de dominação e controle que, como vimos, atuam em duas frentes complemen-
tares e interdependentes: acumulação e controle. Enxergar o desenvolvimento
desde sua heterogeneidade histórico-estrutural nos ajuda a entender a comple-
mentaridade entre estas duas lógicas, para além das dicotomias.
Assim, o olhar atento sobre a heterarquia dos conflitos dos povos tradicionais
constitui uma ponte entre a crítica pós-desenvolvimentista e o pensamento des-
colonial tão necessária para a renovação do pensamento crítico, que lhe permita
apontar para as relações de dominação que se escondem detrás do universalismo
abstrato erguido pelo imaginário geocultural eurocêntrico.
Heterarquias da resistência
Por outro lado, padrões heterárquicos também podem ser verificados no que se
refere às práticas sociais desempenhadas pelos grupos sociais que negam ser incor-
porados à lógica unidirecional do desenvolvimento. As cartografias sociais analisa-
das demonstram a simultaneidade de práticas sociais e ações de resistência que coe-
xistem no mesmo tempo-espaço apesar de aparentarem pertencer a lógicas distintas
de racionalidade espaçotemporal. A negação da incorporação em certos nichos da
economia capitalista não significa um arraigo ancestral que reivindica uma volta ao
passado ou um legado pré-capitalista. Ao contrário, a insistência em resistir aponta
para a construção de futuros possíveis, de projetos civilizatórios outros.
As contradições da razão eurocêntrica em relação à produção da “monocultura
do tempo linear” (SANTOS, 2004, p. 789) revela-se em diversas experiências
sociais que, ora são tachadas de atrasadas em relação ao fio condutor da história
moderna/ocidental, mas terminam por serem cooptadas, redefinidas e apresentas
como la nouveauté por este mesmo projeto que as condenara. Por exemplo, a cres-
cente tendência do turismo de base comunitária em territórios tradicionais, que
incorpora nesses territórios lógicas capitalistas de competitividade e exploração
do trabalho a partir da premissa da contemplação da vida tradicional, que seria
entendida, agora, como algo a ser admirado (um museu ao vivo!?).
Contudo, a heterarquia das práticas sociais também se manifesta nas ações
dos povos tradicionais que combinam nas mesmas experiências o velho e o novo,
miolo_geografia_UFF.indd 171 30/01/17 17:16
172 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
ou melhor, aquilo que nossos olhares ocidentais estão acostumados a identificar
como velho e novo. O que se percebe nos processos de automapeamento empre-
endidos por estes grupos é uma formidável espontaneidade ao combinar o uso do
suprassumo tecnológico da modernidade ocidental com as racionalidades territo-
riais que lhes são próprias.
As ações dos povos e comunidades tradicionais, suas práticas diferenciadas
de produção e reprodução da vida e a organicidade de suas lutas, não podem
ser compreendidas desde a perspectiva de uma historicidade linear. Ao incluir
na análise a heterogeneidade histórico-estrutural, ou seja, “a copresença de tem-
pos históricos e de fragmentos estruturais de formas de existência social, de vária
procedência histórica e geocultural” (QUIJANO, 2005, p. 14), torna-se possível
valorizar e reconhecer que seus passos apontam para a abertura de cenários para
possíveis futuros, muito mais que um retorno ao passado ou engessamento do
presente. Nesse sentido, a luta politizada por reconhecimento territorial protago-
nizada por estes grupos atinge um estatuto de descolonização do imaginário sobre
as próprias formas de luta social.
Porque é o poder, logo, as lutas de poder e seus mutantes resultados, aquilo
que articula formas heterogêneas de existência social, produzidas em tempos
históricos diferentes e em espaços distantes, aquilo que as junta e as estrutura
em um mesmo mundo, em uma sociedade concreta, finalmente, em padrões
de poder historicamente específicos e determinados. (QUIJANO, 2005, p. 15)
O léxico reivindicado pelos povos e comunidades tradicionais em proces-
sos de lutas territorializadas não apenas indica o grau de conhecimento sobre a
complexa trama de heterarquias da dominação que os oprime, mas aponta para
a construção de outras narrativas heterárquicas alternativas ao padrão de poder
moderno-colonial. Destarte, pensar um giro descolonial e a tarefa de renovação
do pensamento crítico requer incorporarmos à disputa epistêmica a prática dos
sujeitos sociais que se opõem à matriz colonial de poder catalisada na metanarra-
tiva do desenvolvimento.
Diálogos para a renovação do pensamento crítico: algumas considerações
No percurso que aqui encerramos, mas que se propõe como abertura para
múltiplos diálogos, encontramos vários horizontes que nos incentivaram a cami-
miolo_geografia_UFF.indd 172 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 173
nhar e observamos, como sísifos desencantados, várias rochas que despencavam.
E tudo ao mesmo tempo.
A “desnaturalização” do desenvolvimento pelo cotidiano das comunidades,
como horizonte que sempre merece a pena perseguir mais um pouco, e as con-
tradições e os paradoxos que a acompanham na prática e na interpretação, como
a rocha que roda ladeira abaixo, foram alguns dos achados e perdidos deste tra-
balho.
Essa mistura entre desejo e necessidade também se constitui no cerne sobre
o qual o filósofo espanhol Santiago López Petit constrói o livro Horror vacui. La
travesía de la noche del siglo (1996), do qual tomávamos a citação com a qual abrí-
amos este texto. Retrato de uma realidade que rui e de uma nova era que sempre
demora em aparecer, López Petit inicia assim seu manifesto113 sobre a situação
político-teórica de final dos anos 1990 na Europa:
Horror al vacío que la noche de este fin de siglo abre ante nosotros. Horror ante
las certezas levantadas para impedir o por lo menos retardar la travesía. Pero,
sobre todo, horror frente al vacío de las ilusiones, de las nuevas seguridades que
se construyen con el fin de habitar más cómodos en este mismo vacío. Horror
frente al horror al vacío. (p. 1, grifos do autor)
Sob circunstâncias histórico-estruturais muito diferentes, porém com preo-
cupações compartilhadas chegamos ao fim deste texto com um desafio similar:
frente al horror al vacío de uma era do desenvolvimento que chega a seu fim,
mas que nos seus últimos estertores pode arrasar com a pluridiversidade social,
cultural, epistêmica de comunidades que esboçam outras racionalidades, faz-se
fundamental uma reconstrução do pensamento crítico que se enrede em um pro-
jeto comum com esses grupos. Gustavo Esteva (2009 de novo nos ajuda com sua
contundência,
La lucha misma y el mundo nuevo no han de concebirse a la manera de in-
genieros sociales que conducen a las masas al paraíso que concibieron para
ellas. Es a la inversa. Consisten en entregarse sin reservas a la creatividad de
los hombres y mujeres reales, ordinarios, la gente común, que son, a final de
cuentas, quienes hacen todas las revoluciones y crean nuevos mundos. Hemos
113 “Un manifiesto es antes que nada um escrito que desvela aquello que no es evidente y lo hace engarzándolo
con un proyecto” (LÓPEZ PETIT, 1996, p. 1)
miolo_geografia_UFF.indd 173 30/01/17 17:16
174 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
de evadir la trampa de los diseños generales para la “sociedad en conjunto”
cuya condición es siempre un resultado de innumerables iniciativas y factores
casi siempre imprevisibles. (p. 243)
As múltiplas formas de dominação e de resistência que as comunidades vivem,
essas heterarquias de mundos existentes e possíveis, são caminhos pelos quais des-
construir e reconstruir essa sociedade do desenvolvimento moderno-colonial em
que vivemos, longe do universalismo abstrato dos “desenhos gerais”. Heterarquias
estas que não se negam, mas se complementam como dentes de engrenagens, a
partir de múltiplas dualidades imbricadas entre si.
O funcionamento destas heterarquias que procuramos contextualizar a partir
do desenleio das formas de dominação e resistência em múltiplas dualidades com-
plementares afasta-se da lógica dicotômica característica do pensamento moder-
no/ocidental. São, ao mesmo tempo, produtos e processos da complexidade do
real. Assim, em dualidades complementares, configura-se a diferença colonial das
“histórias locais e dos desenhos globais” (MIGNOLO, 2003), das “zonas do ser
e do não ser” (FANON, 2010), das “ausências e emergências” (SANTOS, 2004),
as quais só podem ser visualizadas desde o deslocamento epistêmico em direção à
exterioridade da história pseudouniversal do sistema-mundo moderno-colonial.
O terreno destas dualidades é escorregadio para os velhos sapatos gastos da
tradição crítica eurocêntrica. E a declividade do terreno parece aumentar a cada
passo em falso. Nesse sentido, muito temos a aprender com as comunidades tra-
dicionais e suas maneiras de lidar com as circunstâncias do real. Da cruz e da
espada à sociedade do controle, estes sujeitos resistem e constroem suas trajetórias
fronteiriças, com os pés no chão, porém munidos de uma profunda consciência
da complexidade do terreno.
No caminho do “giro descolonial”, outras dualidades despontam, como a
imprescindibilidade da construção de uma complementaridade dialógica entre a
teoria e a prática. Entre a dupla necessidade de afastar-se do universalismo abstra-
to da racionalidade moderno/ocidental e suas construções naturalizadas, como a
metanarrativa do desenvolvimento, e de conciliar-se com as racionalidades alter-
nativas que apresentam outros projetos civilizatórios frente à barbárie da moder-
nidade ocidental. Nesta trajetória emerge a complementaridade entre a grandeza
do caminhar sobre a satisfação de descobrir o novo, e o castigo da tarefa de segurar
os velhos medos, que nos empurram ladeira abaixo.
miolo_geografia_UFF.indd 174 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 175
Caminhos que se abrem e pedras que despencam. Dualidades complementa-
res de um pensamento crítico nunca descolado da ação.
Referências
6ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO. Territórios de povos e comuni-
dades tradicionais e as unidades de conservação de proteção integral: alternativas para o as-
seguramento de direitos socioambientais. Brasília: Ministério Público Federal, 2014.
ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno. Terra de quilombo, terras indígenas, “baba-
çuais livre”, “castanhais do povo”, faxinais e fundos de pasto: terras tradicional-
mente ocupadas – 2.ª Ed, Manaus: PGSCA–UFAM, 2008.
ACSELRAD, Henri. [2009]. Ambientalização das lutas sociais – O caso do mo-
vimento por justiça ambiental. Estudos Avançados, 24, (68), 2010, p. 103-119.
______. Apresentação. In: ACSELRAD, Henri (Org.). Cartografia social e di-
nâmicas territoriais: marcos para o debate. Rio de Janeiro: IPPUR/UFRJ, 2010.
ACSELRAD, Henri; VIÉGAS, Rodrigo Núñez. Cartografias sociais e território – um
diálogo latino-americano. Em: ACSELRAD, Henri (Org.). Cartografia social, terra e
território. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, IPPUR, 2013.
ALIER, Joan Martínez. El ecologismo popular. Ecosistemas 16 (3), p. 148-151,
setembro 2007.
______. O ecologismo dos pobres. São Paulo: Contexto, 2011.
CRUZ, Valter do Carmo. Das lutas por redistribuição de terra às lutas por re-
conhecimento de territórios: uma nova gramática das lutas sociais? In: ACSEL-
RAD, Henri (Org.). Cartografia social, terra e território. Rio de Janeiro: IPPUR/
UFRJ, 2013.
ESCOBAR, Arturo. El “postdesarrollo” como concepto y práctica social. In:
MATO, Daniel (Coord.). Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de
globalización. Caracas: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad
Central de Venezuela, 2005, p. 17-31.
______. Mundos y conocimientos de outro modo – El programa de investiga-
ción de modernidad/colonialidad latinoamericano. Revista Tabula Rasa, Bogotá,
Colômbia, n. 1, p. 51-86, 2003.
miolo_geografia_UFF.indd 175 30/01/17 17:16
176 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
ESTEVA, Gustavo. Desenvolvimento. In: SACHS, Wolfgang (Ed.). Dicionário
do desenvolvimento. Guia para o conhecimento como poder. Petrópolis: Vozes,
2000 [1992], p. 59-83.
______. Más allá del desarrollo: la buena vida. América Latina en Movimiento, nº
445, p. 1-5, 2009.
FANON, Frantz. Piel negra, máscaras blancas. Akal: Madrid, 2010.
FRASER, Nancy. Recognition without Ethics? Theory, Culture & Society, v. 18,
p. 21-42, 2001.
GROSFOGUEL, Ramon. Para descolonizar os estudos de economia política e os
estudos pós-coloniais: Transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialida-
de global. Revista Crítica de Ciências Sociais, 80, p. 115-147, março 2008.
LOPES, José Sérgio Leite. Sobre processo de “ambientalizaçao” dos conflitos e
sobre dilemas da participação. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 12, nº
25, jan/jun, p. 31-64, 2006.
LÓPEZ PETIT, Santiago. Horror vacui. La travesía de la noche del siglo. Madrid:
Siglo XXI, 1996.
MIGNOLO, Walter. Histórias locales/diseños globales. Madrid: Akal, 2003.
NOVA CARTOGRAFIA SOCIAL DOS POVOS E COMUNIDADES TRA-
DICIONAIS DO BRASIL. Ilhéus do Rio Paraná atingidos pelo Parque Nacional
da Ilha Grande e APA Federal-PR. Guairá: Projeto Nova Cartografia Social da
Amazônia/UEA Edições, 2009.
______. Faxinalenses no Setor Centro-PR. Guarapuava: Projeto Nova Cartografia
Social da Amazônia/UEA Edições, 2008.
______. Pescadores Artesanais da Vila de Superagui (Guaraqueçaba-PR) Guara-
queçaba: Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia/UEA Edições, 2010.
PEET, Richard. Imaginários de desenvolvimento. In: FERNANDES, Bernardo
Mançano; MARQUES, Marta Inês Marques; SUZUKI, Júlio César (Orgs.). Ge-
ografia agrária: teoria e poder. São Paulo: Expressão Popular, 2007, p. 19-53.
miolo_geografia_UFF.indd 176 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 177
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Da geografia às geo-gra-
fias: um mundo em busca de novas territorialidades. In: CECEÑA,
Ana. Esther; SADER, Emir (Orgs.). La guerra infinita: hegemo-
nía y terror mundial. Buenos Aires: CLACSO, 2002, p. 217-256.
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A Geograficidade do Social: uma con-
tribuição para o debate metodológico sobre estudos de conflito e movimentos
sociais na América Latina. Intergeo, v. 4, p. 05-12, 2006.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. In:
LANDER, Edgardo (Comp.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias
sociales: perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, 2000.
QUIJANO, Aníbal. Dom Quixote e os moinhos de vento na América Latina.
Estudos Avançados, n. 19 (55), 2005.
QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder e classificação social. In: SOUSA
SANTOS, Boaventura de; MENESES, Maria Paula. Epistemologias do Sul. São
Paulo: Cortez, 2010
RADOMSKY, Guilherme Francisco Waterloo. Desenvolvimento, pós-estrutura-
lismo e pós-desenvolvimento. A crítica da modernidade e a emergência de “mo-
dernidades” alternativas. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 26, n. 75, p.
149-193, fevereiro/2011.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Para uma sociologia das ausências e uma socio-
logia das emergências, In: SANTOS, B. S. (Org.). Conhecimento prudente para
uma vida decente. São Paulo: Cortez Editora, 777-821, 2004.
TERRA DE DIREITOS. Incra reconhece território da comunidade quilombola
Paiol de Telha, primeiro do Paraná. Curitiba, 2014a. Disponível em: <http://ter-
radedireitos.org.br/2014/10/20/incra-reconhece-territorio-da-comunidade-qui-
lombola-paiol-de-telha-primeiro-do-parana/>. Acesso em: nov. 2014.
TERRA DE DIREITOS. Paiol de Telha é o primeiro território quilombola reconhe-
cido pelo Incra no Paraná. Curitiba, 2014b. Disponível em: <http://terradedirei-
tos.org.br/2014/10/21/paiol-de-telha-e-o-primeiro-territorio-quilombola-reco-
nhecido-pelo-incra-no-parana/>. Acesso em: nov. 2014.
miolo_geografia_UFF.indd 177 30/01/17 17:16
miolo_geografia_UFF.indd 178 30/01/17 17:16
Conflitos territoriais e a explicitação de
matrizes de racionalidade divergentes:
projetos desenvolvimentistas e a emergência
de r-existências dos povos e comunidades
tradicionais no Espírito Santo
Simone Raquel Batista Ferreira
1. Matrizes de racionalidade em conflito
A proposta de se discutir o conflito entre projetos desenvolvimentistas e po-
vos e comunidades tradicionais pressupõe considerar as distintas matrizes de ra-
cionalidade que orientam as ações e intenções desses sujeitos. Este conflito é de
cunho cognitivo e epistêmico, de olhares acerca do mundo e da existência, tão
diferenciados entre os povos colonizadores ibéricos e os povos colonizados da
África, América e Ásia, e que se expressam nas formas de relação que estes povos
estabelecem entre si e com a natureza. Esse conflito se faz presente na construção
da hegemonia da racionalidade de origem eurocêntrica a partir da dominação e
colonização de outros povos e seus territórios.
A expansão territorial dos recém-formados Estados Modernos ibéricos nos sécu-
los XV e XVI consolidou-se através da dominação e colonização dos territórios que
viriam a ser África e América, e seus povos originários. Os territórios colonizados
eram inseridos de forma subalternizada no Sistema-Mundo Moderno-Colonial que
se inaugurava (QUIJANO, 2005), com a função de geração de riquezas para os
impérios colonizadores, onde natureza e gente eram transformadas em mercadoria.
A relação colonial criava a África e a América como espaços habitados por
povos “primitivos” e de “tempos passados”, enquanto a Europa nascia como vetor
da “civilização” e modernidade. Essa classificação colonial (QUIJANO, 2000) –
miolo_geografia_UFF.indd 179 30/01/17 17:16
180 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
hierárquica, evolutiva e linear – distribuía os diversos povos do mundo numa es-
cala que ia dos “primitivos ou selvagens” aos “civilizados”, onde o desenvolvimento
capitalista dos Estados europeus era projetado como o caminho único e determi-
nado para que toda a humanidade atingisse o nível da “civilização”. No mesmo
sentido, elegia-se como única a história do expansionismo ibérico sobre os demais
povos, que foram classificados como “sem história”. Uma pretensa “história mun-
dial” e “moderna” se inaugurava, ignorando diversas histórias milenares.
Essas novas identidades invisibilizavam os povos colonizados em suas singu-
laridades históricas e diversidade de saberes. Desconsiderava-se assim todo um
universo de saberes ancestrais, formas de ser, fazer e conceber elaboradas por
estes povos e que orientavam suas relações entre si e com a natureza. A ideo-
logia colonial os inseria num lugar da “inferioridade” – material, econômica,
cognitiva/de saberes, cultural/simbólica, cosmológica, de organização social –,
e desta maneira a colonização impunha-se na esfera cognitiva, elegendo a pers-
pectiva do conhecimento europeu como superior: a colonialidade do saber e do
poder. Tal classificação resultou introjetada no imaginário colonial e ainda hoje
permanece numa relação sedimentada de colonialidade. A colonialidade cons-
titui-se enquanto relação de poder que cristalizou uma pretensa superioridade
dos povos de origem europeia, brancos, capitalistas e cristãos, sobre os povos
de origens diversas, não brancos, não capitalistas, não cristãos e que orientam a
reprodução da própria existência material, simbólica e afetiva a partir de outros
referenciais cosmológicos. A Modernidade era criada, portanto, numa relação
direta com a Colonialidade.
Essa classificação vem sendo reelaborada em diversos contextos históricos e
geográficos. Se até o século XIX ela se baseava na polaridade entre “civilizados” e
“selvagens”, no período posterior às duas guerras mundiais, em meados do século
XX, uma nova classificação dos povos os distribuiu entre “desenvolvidos” e “sub-
desenvolvidos”, ou ainda, entre “modernos” e “atrasados”, ou entre “modernos”
e “tradicionais”. Em 1949, no contexto da Guerra Fria, a Doutrina Truman114
apresentava a ideologia do desenvolvimento através da determinação da necessidade
de se resolver os problemas das “áreas subdesenvolvidas” (ESCOBAR, 1998):
114 A Doutrina Truman nasceu dos propósitos do presidente eleito dos Estados Unidos em 1949, Harry
Truman, e inaugurou uma nova era na compreensão e no manejo dos assuntos mundiais, em particular
daqueles que se referiam aos países economicamente menos avançados (ESCOBAR, 1998).
miolo_geografia_UFF.indd 180 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 181
[…] crear las condiciones necesarias para reproducir en todo el mundo los
rasgos característicos de las sociedades avanzadas de la época: altos niveles de
industrialización y urbanización, tecnificación de la agricultura, rápido cresci-
miento de la produción material y los valores culturales modernos. (p.19-20)
Os principais parâmetros dessa classificação estão assentados sobre a maior ou
menor presença da industrialização e da urbanização: nessa hierarquia, ocupam
os postos mais elevados aqueles cujas economias encontram-se industrializadas e
cuja população encontra-se majoritariamente nas cidades. Ou seja, a indústria e o
espaço urbano são apresentados como referenciais de superioridade econômica e
social frente à agricultura e ao espaço rural, e nesse caminho a industrialização se
impôs, inclusive, sobre a agricultura.
Para se atingir o preconizado “progresso”, a Doutrina Truman previa “ajustes
dolorosos”, tais como: a erradicação das filosofias ancestrais; a desintegração das
velhas instituições sociais e o rompimento dos laços de casta, credo e raça (ES-
COBAR, 1998).
Nesse sentido, ficaria determinado que todas as formas de organização social,
política e econômica orientadas por princípios que têm a natureza como prin-
cipal sustentação da vida tornar-se-iam subjugadas ao sistema do capital e seu
processo desenvolvimentista, fundamentado na acumulação desigual de riquezas
e de poder oriunda da exploração exaustiva da natureza e do trabalho. Em seu
movimento de expansão contínua e trajetória pretensamente linear, o desenvolvi-
mento romperia com a circularidade do espaço-tempo dessas sociedades, onde a
reprodução da existência se dá pelo envolvimento cotidiano das famílias, grupos,
clãs, tribos e comunidades. Assim, o desenvolvimento do sistema do capital confi-
gura-se enquanto des-envolvimento, ou seja, a negação do envolvimento115.
A ideológica obviedade do desenvolvimento capitalista como o caminho único
a ser seguido por todos os povos perpetua o imaginário colonial e as práticas de co-
lonialidade dos sujeitos hegemônicos e também daqueles que foram subalterniza-
dos pelo processo da colonização. Assim, ainda que sejam tecidas críticas à relação
entre desenvolvimento e subdesenvolvimento, entre dominantes e dominados,
o caminho preconizado a ser trilhado por todos os povos segue as mesmas refe-
rências do modelo capitalista, sejam elas econômicas, cognitivas ou simbólicas: a
115 Desenvolver: evolver, volver: voltar, retornar; e-volver: voltar a si mesmo, envolver; de onde des-e-volver: não
voltar-se a si mesmo, não envolver.
miolo_geografia_UFF.indd 181 30/01/17 17:16
182 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
realidade colonizada pelo discurso do desenvolvimento (ESCOBAR, 1998).
A construção de rupturas em relação a esse projeto hegemônico passa, ne-
cessariamente, pela descolonização do imaginário (GRUZINSKI, 2003), ou seja,
pela construção e a reconstrução de outros referenciais de economia, de saberes,
de cosmologia, de cultura, de estética, de valores e relações sociais. Esses outros
referenciais de vida compõem o universo de povos e comunidades que foram su-
balternizados pelo projeto moderno colonial. Ao serem considerados como possi-
bilidades, contribuem para a desconstrução do lugar de inferioridade onde foram
colocados esses povos e comunidades – aqui denominados tradicionais, tendo em
vista sua contraposição em relação à Moderno-Colonialidade.
Uma discussão feita nesse sentido refere-se ao contraponto necessário ao ideá-
rio do desenvolvimento, que dentre os povos originários de Abya Yala116 vem sendo
trazido pelo princípio do Bom Viver:
El Buen Vivir, en esencia, es el proceso de vida que proviene da la matriz co-
munitaria de pueblos que viven en armonía con la Naturaleza. El Buen Vivir
constituye un paso cualitativo importante al superar el tradicional concepto de
desarrollo y sus múltiples sinónimos (ACOSTA, 2012, p. 20)
O Bom Viver baseia-se, portanto, numa matriz de racionalidade comunitária
onde a Natureza é a fonte da vida, concepção muito distinta dos princípios de
origem eurocêntrica e capitalista que transformam a Natureza em mercadoria, no
intuito de gerar a acumulação desigual de riquezas.
O conflito entre essas matrizes de racionalidade se fez presente entre o projeto
Moderno-Colonial e os povos originários dos territórios que lhe foram subalter-
nizados, e se perpetua entre os projetos desenvolvimentistas e os chamados povos
e comunidades tradicionais. Nessa linha de contato e tensão, o conflito reforça os
elementos das identidades e alteridades, e materializa-se nos espaços apropriados
e dominados por esses sujeitos e grupos sociais: territórios e práticas de territo-
rialidade. Assim, o conflito traz uma dimensão positiva que é a explicitação das
intencionalidades (PORTO-GONÇALVES, 2006):
116 Abya Yala, na língua do povo Kuna (habitante originário da Serra Nevada, na Colômbia), significa “Terra
madura”, “Terra viva” ou “Terra em florescimento”, e vem sendo usado pelos povos originários do conti-
nente em oposição a América (PORTO-GONÇALVES, 2009).
miolo_geografia_UFF.indd 182 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 183
[...] os conflitos sociais [...] são momentos privilegiados de conformação de iden-
tidades, posto que são momentos-limite cujos lados, os interesses, se manifestam
como realidade objetiva. São nesses momentos que aqueles que constituem os
movimentos sociais, isto é, que buscam mudar a ordem que lhes está sendo (im)
posta, se defrontam, se confrontam e assim, no front, buscam novas fronteiras
para o espaço social, novos limites para as relações entre os homens [...]. (p. 525)
Nesse sentido, ao explicitar a intencionalidade dos sujeitos, o conflito se con-
trapõe ao consenso, ou seja, desconstrói o acordo e a concordância forjada das
ideias (GÓMEZ, 2008). O conflito traz a possibilidade de construção de rup-
turas ideológicas, cognitivas e epistêmicas. Tais rupturas são alimentadas, muitas
vezes, pela produção da visibilidade dos territórios e territorialidades tradicionais,
orientados por suas matrizes de racionalidade específicas e ocultados pela territo-
rialização do capital.
2. “Vocações” desenvolvimentistas em “espaços vazios”: intencionali-
dades e tensionalidades
Os processos históricos iniciados com o projeto Moderno-Colonial trazem a
explicitação dos conflitos entre a matriz de racionalidade eurocêntrica e aquela dos
povos originários dos territórios colonizados. No Brasil, a começar pela servidão
e escravização indígena, com a dominação de seus territórios tradicionalmente
ocupados e a transformação da natureza em mercadoria, esses conflitos aden-
traram a relação comercial de escravização de povos negros africanos que foram
transformados na mercadoria mais lucrativa da economia colonial. Mesmo após
o processo de emancipação política em relação à Coroa Portuguesa, em 1822,
as referências coloniais permaneceram enquanto práticas de colonialismo interno
reproduzidas pela consciência criolla branca (MIGNOLO, 2005):
A consciência criolla em sua relação com a Europa forjou-se como consciência
geopolítica mais que como consciência racial. E a consciência criolla, como
consciência racial, forjou-se internamente na diferença com a população ame-
ríndia e afro-americana. A diferença colonial transformou-se e reproduziu-se
no período nacional, passando a ser chamada de “colonialismo interno”. [...]
Este aspecto da formação da consciência criolla branca é o que transformou o
imaginário do mundo moderno-colonial e estabeleceu as bases do colonialis-
mo interno que atravessou todo o período de formação nacional [...]. (p. 85)
miolo_geografia_UFF.indd 183 30/01/17 17:16
184 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Dessa maneira, as referências eurocêntricas se perpetuam na dominação terri-
torial e cognitiva, onde dois instrumentos ideológicos são de suma importância:
a classificação dos territórios como “espaços vazios” e a projeção trazida pela ideia
das “vocações”.
A ideologia dos “espaços vazios” constrói a invisibilidade de certos atributos
desses espaços e permeia a justificativa para a implantação de profundas alte-
rações que visem sua pretensa “ocupação efetiva”, propiciada tão somente por
determinado projeto de desenvolvimento. Nesse caminho classificatório, algumas
“vocações” são definidas e naturalizadas como potencialidades necessárias desses
espaços, necessárias à implantação do desejado desenvolvimento. Dessa maneira,
os “espaços vazios” e as “vocações” trazem como referencial ideológico o caminho
histórico linear, único e evolutivo preconizado pelo imaginário colonial, que in-
visibiliza os povos orientados por matrizes de racionalidade distintas da eurocên-
trica, suas formas de territorialidade e seus modos de viver.
No Brasil, a ideologia dos “espaços vazios” e das “vocações” faz-se emblemá-
tica em diversos momentos, dentre os quais podemos destacar: a implantação e
a expansão dos projetos desenvolvimentistas agropecuários, agrominerais e in-
dustriais na Amazônia, acompanhados pela infraestrutura das rodovias, hidrelé-
tricas e projetos de colonização (durante a Ditadura Militar); a implantação dos
monocultivos de eucalipto destinados à produção de carvão para siderurgias e
de celulose nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, associados a unidades
fabris e portuárias (a partir dos anos 1950); a exploração do petróleo e do gás (a
partir dos anos 1950); a expansão do agronegócio da soja sobre extensas áreas do
cerrado brasileiro, inicialmente nos estados de Goiás e Mato Grosso (a partir dos
anos 1970). Mais recentemente: o renascimento das atividades da mineração na
região do Quadrilátero Ferrífero (MG) e na Amazônia; a exploração de petróleo e
gás em águas profundas – Pré-Sal (na primeira década dos anos 2000); o projeto
de transposição das águas da bacia hidrográfica do rio São Francisco, que favorece
diversas atividades do agronegócio; e também a construção de infraestrutura para
favorecer a circulação do capital, como grandes hidrelétricas, ferrovias, minerodu-
tos, oleodutos, gasodutos e portos. Esses projetos vêm sendo contemplados pelo
incremento da infraestrutura de transportes, energia e telecomunicações, propa-
gado, no Brasil, pelos Programas de Aceleração do Crescimento (PAC) (iniciados
em 2007), e na América do Sul, pela Iniciativa de Integração da Infraestrutura
Regional Sul Americana (IIRSA) (plano criado no ano 2000).
miolo_geografia_UFF.indd 184 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 185
A ideologia dos “espaços vazios” permeia todos esses momentos e não reconhe-
ce que os espaços escolhidos para a implantação dos projetos desenvolvimentistas
constituem, de fato, territórios tradicionalmente ocupados por povos originários
indígenas, comunidades campesinas, quilombolas, pescadoras, dentre outras. Por
seu turno, as “vocações” predeterminadas definem o destino econômico de favo-
recimento ao capital, em detrimento das outras economias locais já existentes.
No estado do Espírito Santo, é notória a presença dessas ideologias que con-
formam um imaginário profundamente colonial, onde o ideário desenvolvimen-
tista se explicita nas “vocações” que são definidas pela elite econômica e pelo
Poder Público como saída para sua situação de “economia deprimida” (BECKER,
1973), dentro da região mais rica do País. “Economia deprimida” constitui uma
classificação que tem como parâmetro ideal o desenvolvimento capitalista e des-
considera todos os outros modos de viver existentes, considerados inferiores. Essa
classificação revela a força do imaginário colonial não só junto à elite e ao Poder
Público, mas também como ideologia impregnada junto ao senso comum.
Destacaremos alguns processos que explicitam o imaginário colonial nessa his-
tória. A começar pela colonização portuguesa nesse território da então Capitania
Hereditária de Vasco Coutinho117, que em 1535 já trazia esses referenciais e bus-
cava se impor aos povos originários e seus territórios tradicionalmente ocupados.
Considerando a forte resistência dos povos originários, o projeto colonial buscou
reforço na catequese dos jesuítas, que aí se fizeram presentes desde o ano de 1546
(SALETTO, 2011) com o intuito de domesticar e dominar o imaginário indígena.
No dia 23 de maio de 1535, a expedição chegou à baía que seria inicialmente
conhecida como do Espírito Santo, desembarcando junto a um monte (More-
no) à esquerda de sua entrada. Foram recebidos por índios armados, dispostos
a defender sua terra, e tiveram de usar os canhões para contê-los. Esse episódio
prenuncia as dificuldades que os aguardavam. [...] Anos difíceis, sobretudo os
primeiros, quando o conflito com os índios ameaçava a própria sobrevivência
da capitania. (SALETTO, 2011, p. 19-39)
Em meio aos aldeamentos, às prisões e ao cristianismo, o projeto de domi-
nação colonial sobre os povos originários se estendeu ao longo do século XVI e
117 Essa Capitania foi doada pela Coroa Portuguesa a Vasco Coutinho em 1534 e, posteriormente, originou o
atual estado do Espírito Santo.
miolo_geografia_UFF.indd 185 30/01/17 17:16
186 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
os seguintes. No século XIX, o olhar des-envolvimentista classificava o estado do
Espírito Santo como um grande “vazio demográfico”, apto e necessitado a receber
a imigração europeia, embora nessa época ainda fosse expressiva a população in-
dígena que habitava a floresta tropical, constituída tanto pelos “índios bravos”
ou tapuias – Puris, Coroados e Botocudos – como pelos “índios mansos” ou “ci-
vilizados” – Tupiniquim e Temiminó – integrados à vida colonial luso-brasileira
por meio das missões jesuíticas (MOREIRA, 2001). No final desse século, com
a extinção da escravidão negra e a decadência progressiva das atividades ligadas à
economia colonial, a ideologia dos “espaços vazios” passou a salientar a necessida-
de de ocupação e desenvolvimento do território sobre novas bases.
Assim, nos anos 1920, a exuberante floresta tropical do norte do estado passa-
ria a ser explorada em suas madeiras nobres para o crescimento urbano industrial
do Centro-Sul do País (BECKER, 1973), iniciando um novo momento de valori-
zação deste território de fronteira ditado pelo capital. Sob a ótica da “vocação ma-
deireira”, a existência da floresta tropical já era condição para sua própria retirada.
O governo do estado do Espírito Santo preocupava-se com a efetiva ocupação
dessa zona de fronteira e definia as primeiras políticas de exploração madeireira,
através da qual concedia extensas áreas de floresta para a exploração privada, que
em troca deveria traçar um plano de ocupação para a região.
Num primeiro momento, os rios eram utilizados como vias de escoamento
das toras de madeira, que eram amarradas umas às outras como jangadas, até che-
garem à foz, de onde eram enviadas, em toras ou serradas em tábuas, para outros
estados e até mesmo países. Além dos rios, as primeiras ferrovias entre as zonas
litorâneas e os “sertões do rio Doce” também serviam como meio de transporte da
madeira e outros produtos, como a Estrada de Ferro Vitória-Minas (EFVM), que
teve papel central no devassamento da floresta118.
A produção do carvão vegetal para siderurgia provocou a ocupação e a devas-
tação da floresta no médio Vale do Rio Doce de forma muito mais intensa do que
a exploração destinada às serrarias. O incremento da indústria automobilística e
a priorização do transporte rodoviário após a Segunda Guerra Mundial (1939-
1945) alteraram ainda mais a forma da exploração econômica desta região, com
118 Iniciada em 1903 (Vitória/ES), a EFVM atingiu o rio Doce em 1905 (Colatina/ES) e Itabira (MG) em
1944, movimentada pelo transporte do café e madeira. A partir de 1945, como propriedade da Companhia
Vale do Rio Doce, passou a servir ao transporte de minério de ferro em grande escala, favorecendo a im-
plantação de um parque siderúrgico na região.
miolo_geografia_UFF.indd 186 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 187
destaque à construção da BR-101 e da ponte sobre o rio Doce na altura da cidade
de Linhares, em 1954. Uma vez aberto e facilitado o acesso àquele território da
floresta até então intransponível, intensificou-se seu processo de exploração, guia-
da pelo ideário desenvolvimentista. Ao serem apropriadas em larga escala pelo
capital, grandes áreas da floresta sucumbiam, inviabilizando o modo de vida de
seus povos e comunidades: povos da floresta, que viviam na floresta, da floresta e
com a floresta.
Ao norte do rio Doce, no estado do Espírito Santo, esse processo tomaria
maior vulto a partir da década de 1960, quando as zonas planas dos Tabuleiros
Terciários passaram a ser transformadas em monocultivos industriais de euca-
lipto destinados à produção de celulose. A chamada “Política Florestal” primava
por um planejamento estratégico da produção, através da criação de legislações
específicas e normas fiscais de incentivo ao setor, bem como de órgãos oficiais de
fomento e fiscalização dos plantios119 (MAGALDI, 1991), e tomou maior vulto a
partir do Programa Nacional de Papel e Celulose, integrante do II PND – Plano
Nacional de Desenvolvimento elaborado pela Ditadura civil-militar em 1974 e
que tinha como metas a ampliação do consumo interno e da exportação de celu-
lose e papel. Esse momento conjugava o interesse privado das empresas, o apoio
do Estado e as proposições de órgãos internacionais como a Organização das Na-
ções Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), que passavam a subsidiar
programas de expansão dessa produção120.
No município de Aracruz (ES), a empresa Aracruz Florestal iniciava sua pro-
dução em 1967 com monocultivos de eucalipto visando à exportação de cavacos
para países produtores de celulose. Considerando a vultosa necessidade de terras e
água para a produção da celulose, a profunda degradação ambiental produzida e o
valor da mão de obra, uma nova divisão internacional do trabalho realocaria essa
atividade para os países “não desenvolvidos”, onde os governos também ofereciam
grandes atrativos fiscais aos empreendimentos. Essa nova conjuntura alimentou a
criação da empresa Aracruz Celulose em 1972 e, em 1975, a construção da pri-
119 O Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) foi criado em 1967, com essas funções.
120 Nos anos 1960 e 70, as principais empresas do setor no País constituíam-se em associação de capitais
nacionais e internacionais, estatais e privados, dentre elas: a Companhia Vale do Rio Doce – CVRD (ES
e MG); a FLONIBRA – Empreendimentos Florestais S/A (ES e sul BA); a CENIBRA (MG); a JARI
FLORESTAL e AGROPECUÁRIA (AM e PA); a PLANTAR – Planejamento, Técnica e Administração de
Atividades Rurais Ltda. (SP); e a ARACRUZ CELULOSE S/A (ES), sucessora da Aracruz Florestal S/A.
(GOLDENSTEIN, 1975).
miolo_geografia_UFF.indd 187 30/01/17 17:16
188 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
meira fábrica, que passou a expandir seus plantios aos municípios de São Mateus
e Conceição da Barra, visando à produção de celulose para exportação.
O discurso elencava alguns fatores favoráveis para a escolha dessas localidades,
como a topografia plana dos Tabuleiros Terciários – propícia à mecanização –, a
dinâmica climática e a proximidade do Porto de Vitória, que facilitava a expor-
tação. No entanto, essas condições também se faziam presentes no município de
Linhares, situado entre Aracruz e São Mateus; porém ali não se estabeleceram os
monocultivos de eucalipto. O que se verifica é que as localidades escolhidas cons-
tituíam territórios étnicos que vinham sendo ocupados de forma ancestral e não se
legitimavam pela lógica da propriedade privada capitalista da terra-mercadoria, mas
sim pela apropriação da terra-patrimônio como sustentação da vida. Constituíam
formas de apropriação que não contavam com a documentação da terra, diferen-
temente de Linhares, onde a propriedade privada já se encontrava consolidada
nos grandes latifúndios de gado da oligarquia regional.
O atual município de Aracruz era parte do território Tupiniquim, que se es-
tendia do sul do estado da Bahia ao Paraná. Os indígenas Tupiniquim foram
os que primeiro sofreram com o processo da dominação e aculturação colonial
(MOREIRA, 2001), pois se encontravam na região costeira, “porta de entrada”
do território. No contexto da chegada da empresa Aracruz Florestal (1967), en-
contravam-se classificados pela sociedade local como “caboclos”, ou seja, “não
indígenas”, e portanto sem qualquer direito ao seu território. A chegada de um
grupo indígena Guarani do Sul do País, em uma caminhada em busca da “Terra
sem males” orientada pela xamã Tatãtim Yva Re ete121, construiu o encontro entre
ambos os povos indígenas nesse momento de expropriação territorial e contribuiu
para fortalecer o processo de resistência: em contato com os Guarani, os Tupini-
quim iniciaram um processo de reconstrução de sua identidade étnica profunda-
mente arraigada ao território ancestral. Juntos, Tupiniquim e Guarani passariam
a resistir à expropriação territorial e a articular processos de retomada de seu
território (MARACCI, 2008).
Os municípios de São Mateus e Conceição da Barra constituíam territórios de
antigos agrupamentos negros rurais, oriundos dos tempos da escravidão guiada
121 Tatãtim Yva Re ete foi uma mulher xamã Guarani Mbyá que liderou a caminhada de seu grupo desde o
Paraguai até o município de Aracruz, no Espírito Santo, onde criou a aldeia Boa Esperança, seguindo o
caminho dos jesuítas no território das missões, atravessando a Argentina e o Uruguai até chegar ao Brasil
(CICCARONE, 2001, apud MARACCI, 2008).
miolo_geografia_UFF.indd 188 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 189
pelas fazendas produtoras de farinha de mandioca. Aqui, a ausência de documen-
tação de propriedade da terra facilitava a especulação imobiliária e a grilagem,
consolidando o processo de territorialização do capital através da expropriação
das comunidades, por meio de mecanismos de coerção e ameaças que intimida-
vam os moradores locais, estimulando um intenso processo migratório para as
cidades locais e outros centros urbanos maiores, como a capital do estado. Para
aqueles que resistiram em seus territórios, restava a convivência forçada com os
extensos monocultivos de eucalipto que secavam as águas e destruíam a rica di-
versidade biológica da floresta tropical atlântica, cerceando o tradicional modo de
vida local (FERREIRA, 2009).
Outro processo que merece destaque refere-se às atividades de exploração do
petróleo e do gás, cujas primeiras pesquisas se iniciaram no estado do Espírito
Santo em meados do século XX, realizadas pela empresa Petrobras (criada em
1953). Em 1969, deu-se a primeira descoberta de petróleo no município de São
Mateus, cuja exploração se iniciou em 1973; e nos anos de 1980, as descobertas
de gás natural na foz do rio Doce. Em tempos mais recentes, com a descoberta
de petróleo e gás em águas profundas em 2006 – o Pré-Sal122 –, a atividade pas-
sou a constituir a “nova era” desenvolvimentista no estado do Espírito Santo,
tornando-se o carro-chefe dos rumos econômicos preconizados pelo Plano de
Desenvolvimento ES 2030123.
Nesses terrenos sedimentares litorâneos, além dos hidrocarbonetos, encon-
tram-se comunidades tradicionais quilombolas, indígenas e de pescadoras arte-
sanais, que passaram a ver seus territórios tradicionalmente ocupados transfor-
mados em campos de pesquisa sísmica, locais de perfuração de poços e trânsito
de dutos para o transporte de petróleo e gás que foram e ainda são descobertos.
Para as descobertas de petróleo no oceano, intensificam-se as sísmicas, e junto aos
poços e dutos passam a coexistir navios petroleiros e plataformas de exploração,
conjugados a uma grande infraestrutura portuária, que disputam os territórios
marítimos com os pescadores artesanais. Em águas profundas, a exploração do
122 De acordo com a Petrobras, a área total da província do Pré-sal chega a 149 mil km² e estende-se entre os
estados de Santa Catarina e o Espírito Santo, que tem a segunda maior reserva de petróleo do Brasil e é o
segundo maior produtor do País (ECODEBATE, 2015).
123 O Plano de Desenvolvimento ES 2030 foi formulado numa parceria entre a Petrobras, a Secretaria de Estado
de Economia e Planejamento (SEP), o Fórum de Entidades e Federações (FEF), a Ong empresarial “Espírito
Santo em Ação” e o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN)/ SEP, e produz um planejamento econômico
estratégico para o estado, com destaque à produção de petróleo e gás como indutora do “progresso”.
miolo_geografia_UFF.indd 189 30/01/17 17:16
190 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
petróleo não altera somente o oceano, mas intensifica as transformações no con-
tinente, uma vez que necessita de uma infraestrutura complexa, como analisa o
geógrafo Claudio Zanotelli:
Para abastecer o boom petroleiro atual, suas plataformas, navios, dutos, instala-
ções, alavanca-se em larga escala a mineração e a siderurgia, por exemplo. Bem
como os setores de logística, naval, além dos complexos portuários, ferroviários
e rodoviários. Cria-se uma rede de empreendimentos tanto no mar quanto em
terra. E isso vem acontecendo em todo o território do Espírito Santo. (ECO-
DEBATE, 2015)
A infraestrutura portuária passa também a agregar outras atividades, como a
exportação de minério de ferro oriundo de jazidas no estado de Minas Gerais.
O renascimento da exploração mineral em Minas forma um par perfeito com a
nova “vocação” petrolífera e portuária definida ideologicamente para o estado do
Espírito Santo, que atualmente tem a projeção de construção de mais 21 unida-
des portuárias em seu litoral124, segundo a Frente Parlamentar Ambientalista do
Espírito Santo.
Esses processos analisados evidenciam a construção e a permanência do ima-
ginário colonial nas ações da política econômica implantadas no território que se
transformou no estado do Espírito Santo, onde as escolhas são ideologicamente
impostas pelo discurso dos “vazios” e das “vocações”, muito embora esse território
sempre estivesse ocupado e vivido por diversos povos e comunidades. Orientadas
pela matriz de racionalidade que define a natureza como mercadoria, tais ações
explicitam a aliança histórica entre o capital e o Estado125, que transparece, so-
bretudo, nas políticas de financiamento público126, nos favorecimentos legais e nos
124 Segundo informações da Frente Parlamentar Ambientalista do Espírito Santo, está cogitada a construção
de 5 unidades portuárias em São Mateus (uma já em construção); 3 em Linhares (uma já em construção);
7 em Aracruz, junto ao Portocel, da empresa Aracruz Celulose-Fibria (estaleiro Jurong já em construção);
3 em Vitória; 2 em Anchieta, junto ao Porto de Ubu, da empresa Samarco; 2 em Itapemirim; e 2 em Pre-
sidente Kennedy.
125 Essa aliança histórica se faz presente não só com o estado do Espírito Santo, mas também com o Estado
brasileiro.
126 Criado em 1952, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é um dos grandes
financiadores dos grandes projetos desenvolvimentistas no Brasil, que também se expandem para outros
países considerados “não desenvolvidos”.
miolo_geografia_UFF.indd 190 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 191
mecanismos de licenciamento ambiental que se transformaram num “balcão de
negociação de impactos” guiado pela lógica das compensações, onde a possibilida-
de de impedir a implantação dos empreendimentos não está em questão127.
Ao se territorializarem, esses processos mercantilizam a natureza e incidem
sobre o modo de vida das comunidades tradicionais locais, que orientam a repro-
dução de sua existência material, simbólica e afetiva a partir de outros referen-
ciais, onde a natureza é a Mãe maior ou Pacha Mamma. Ao terem seus territórios
ameaçados e expropriados, esses grupos sociais vêm construindo seus processos
de resistência que se anunciam permanentemente e os colocam em movimento.
3. Experiências de r-existência
Nos processos apresentados, pode-se verificar que os conflitos entre a matriz de
racionalidade de origem colonial e a dos povos que foram (e ainda são) subalter-
nizados por ela concretizam-se em disputas territoriais, simbólicas e cognitivas.
Entendemos o território enquanto fruto e processo relacional de apropriação
social do espaço, sempre em movimento. Todos os sujeitos e grupos sociais cons-
troem sua existência material, simbólica e afetiva a partir da apropriação do espa-
ço, no qual tecem seus modos de viver (FERREIRA, 2009). A combinação dessas
relações irá configurar as características do território, de acordo com as formas
de apropriação, uso e/ou domínio do espaço que se efetivam e se desdobram ao
longo de um continuum que vai da dominação político-econômica à apropriação
mais subjetiva e/ou cultural-simbólica, conforme os projetos dos sujeitos e gru-
pos sociais (HAESBAERT, 2004). Essas relações existenciais e/ou produtivistas
vivenciadas pelos sujeitos sociais constituem a multidimensionalidade do vivido
territorial e caracterizam as marcas da apropriação do espaço que se efetivam, ou
seja, suas formas de territorialidade (RAFESTIN, 1993 [1980]).
As distintas formas de territorialidade diferenciam-se de acordo com as
relações de apropriação e/ ou dominação do espaço que efetivam: no espaço
apropriado e vivido pelas comunidades campesinas e tradicionais, produz-se
um saber-fazer, do tato e do contato, um “saber com” a natureza; enquanto no
127 Embora o licenciamento ambiental tenha sido uma conquista da Política Nacional do Meio Ambiente
(1981) no sentido de planejar e fiscalizar, com a participação social, o uso dos recursos naturais, o que se
tem assistido se aproxima mais de rodadas de negociações de impactos, ou seja, o empreendimento negocia
o quanto deve pagar aos sujeitos impactados para poder provocar os danos previstos nos Estudos de Impac-
to Ambiental e seus respectivos relatórios (isso quando os danos aparecem em tais estudos!).
miolo_geografia_UFF.indd 191 30/01/17 17:16
192 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
espaço dominado por grandes empreendimentos capitalistas, há um “saber so-
bre” a natureza (PORTO-GONÇALVES, 2006b) – ou mesmo contra ela – que
materializa um espaço unifuncional.
Comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, de pescadores artesanais e
camponeses tradicionais mantêm uma relação intrínseca de diálogo com a natu-
reza, a partir da qual produzem a própria existência material, simbólica e afetiva.
Convivem diretamente com as dinâmicas dos ciclos naturais e possuem saberes
importantíssimos a respeito da biodiversidade que vivenciam. Nessas terras tra-
dicionalmente ocupadas (ALMEIDA, 2004), a apropriação e o uso comum dos
recursos constituem modelos culturalmente específicos da natureza (ESCOBAR,
2005). Seu vivido territorial constitui a morada dos valores materiais, éticos, espi-
rituais, simbólicos e afetivos que perpassam as histórias de vida, selam cumplici-
dades, identidades e o sentimento de pertença em relação ao território.
Opondo-se à matriz de racionalidade dos povos e comunidades tradicionais,
outros processos territoriais se constituem no espaço dominado pelo capital, di-
rigidos por interesses econômicos e políticos que mercantilizam a natureza com
o objetivo de gerar a acumulação desigual de riquezas numa sociedade hierar-
quizada em classes sociais. Aqui, a dominação busca transformar a pluralidade de
usos, vivências e tempos numa funcionalidade única do espaço, que passa a ser
caracterizado como propriedade privada capitalista.
Os projetos desenvolvimentistas capitalistas permanecem invadindo esses ter-
ritórios tradicionais, se apropriando de sua natureza e solapando sua organização
social e econômica. No entanto, mesmo que muitos desses sistemas tenham se
desestruturado frente à expansão capitalista, a resistência das comunidades é teci-
da em movimentos de organização que buscam recriar seus modos de vida na luta
por seus territórios de uso comum (DIEGUES, 1998). Ao evocar outras matrizes de
racionalidade que foram – e ainda são – subalternizadas pela relação da coloniali-
dade, esses processos de resistência evidenciam as divergências entre formas de uso
e apropriação do espaço, entre as intencionalidades dos sujeitos e seus territórios/
territorialidades correspondentes:
[...] há outras matrizes de racionalidade subalternizadas resistindo, r-existindo,
desde que a dominação colonial se estabeleceu e que, hoje, vêm ganhando visi-
bilidade. Aqui, mais do que resistência, que significa reagir a uma ação anterior
e, assim, sempre uma ação reflexa, temos r-existência, é dizer, uma forma de
miolo_geografia_UFF.indd 192 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 193
existir, uma determinada matriz de racionalidade que age nas circunstâncias,
inclusive reage, a partir de um topoi, enfim, de um lugar próprio, tanto geográ-
fico como epistêmico. (PORTO-GONÇALVES, 2006a, p. 165)
Numa rápida análise dos processos apresentados referentes ao estado do Es-
pírito Santo, podemos elencar momentos de construção de r-existências por
parte dos povos originários e comunidades tradicionais impactados pelos pro-
jetos desenvolvimentistas.
Frente ao processo expropriatório oriundo da exploração da floresta para a
produção de carvão (a partir dos anos 1940) e dos monocultivos de eucalipto
destinados à produção de celulose (a partir de meados dos anos 1960), os Tu-
piniquim e os Guarani iniciaram um longo processo de lutas pela retomada de
seu território, que se deparou com a insistente negativa do Estado em relação ao
reconhecimento de seus direitos. No entanto, os diversos momentos de retomada
do território pelos Tupiniquim e Guarani produziram a visibilidade da presença
indígena128 no estado do Espírito Santo e forçaram a Fundação Nacional do Ín-
dio (Funai) a reconhecê-la oficialmente, como também a constituir Grupos de
Trabalho com o intuito de identificar suas áreas de ocupação (MARACCI, 2008).
Num período que se estendeu de 1973 a 2007, o processo de reconquista ter-
ritorial pelos Tupiniquim e Guarani foi construído progressivamente e marcado
por diversos tensionamentos entre os povos indígenas e o Estado, que se origina-
vam e aprofundavam através das retomadas e autodemarcações de terra efetivadas
pelos povos indígenas.
A primeira retomada aconteceu em 1979, sobre áreas de floresta que se en-
contravam sob o domínio da empresa Aracruz Celulose, e resultou no primeiro
estudo feito pela Funai, que identificou uma área de 6.500 hectares como de
“ocupação dos índios Tupiniquim e Guarani Mbyá”. Essas terras passaram a ser
reocupadas pelos povos indígenas em 1980, e esse fato passou a conflitar com as
áreas de domínio da empresa Aracruz Celulose S.A., que então propôs à Funai
um acordo, resultando, em 1983, na demarcação e homologação de uma área
menor, com 4.492 hectares (Idem, ibidem).
128 O posicionamento inicial da FUNAI foi de esvaziar o território indígena, encaminhando os Guarani e
alguns Tupiniquim para a “Fazenda Guarani”, em Minas Gerais – inicialmente denominada Reformatório
Indígena Krenak, Colônia Penal que tinha como objetivo “a recuperação dos índios delinquentes” – ou seja,
aqueles que resistiam à expropriação de seus territórios (CICCARONE, 2002, apud MARACCI, 2008).
miolo_geografia_UFF.indd 193 30/01/17 17:16
194 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Os Tupiniquim reivindicaram à Funai a revisão dos limites de suas terras e um
novo Grupo Técnico foi instituído em 1994, indicando a ampliação de 13.579
hectares. Novamente, apesar do estudo feito, as Terras Indígenas não foram ho-
mologadas em sua total dimensão (mas somente em 2.571 hectares), e os Tu-
piniquim e Guarani iniciaram uma autodemarcação em 1988, que foi contida
pela Funai. No lugar das terras, foi-lhes imposta uma negociação com a empresa
Aracruz Celulose, que repassaria uma quantia em dinheiro às comunidades indí-
genas por um período de 20 anos, através de projetos agrícolas profundamente
vinculados à lógica de produção capitalista (idem, ibidem).
No ano de 2005, as comunidades indígenas decidiram pelo rompimento do
acordo com a empresa e a retomada da luta pelo território através de uma nova
autodemarcação. Com o apoio de movimentos sociais, entidades, estudantes e
pesquisadores, dentre outros, a identificação e demarcação territorial dos cerca de
11.000 hectares que ainda faltavam foi concretizada, numa experiência coletiva
de encontro de saberes129. Revivendo os difíceis momentos anteriores, essa autode-
marcação das terras não significaria, de imediato, sua homologação pelo Estado
brasileiro, e embora a reapropriação indígena começasse a se concretizar através
da reconstrução de antigas aldeias130, no início de 2006 foi alvo de uma truculenta
ação da Polícia Federal, com a derrubada das casas e dos plantios recentemente
feitos, acompanhada pela violência física e moral aos Tupiniquim e Guarani.
A longa luta pela demarcação e homologação das Terras Indígenas continuou
até o ano de 2007, quando enfim uma Portaria foi assinada pelo Ministério da
Justiça e um Termo de Ajustamento e Conduta foi firmado entre as comunidades
indígenas Tupiniquim e Guarani, a Funai e a empresa Aracruz Celulose, deter-
minando que a empresa custeasse um Estudo Etnoambiental nas Terras Indígenas,
com o objetivo de identificar as melhores alternativas de uso e recuperação da ter-
ra. Recentemente (2015), as Terras Indígenas Tupiniquim e Guarani no Espírito
129 Nesse processo, foi fundamental a participação de estudantes da Universidade Federal do Espírito Santo,
organizados no coletivo denominado “Brigada Indígena”, onde merece destaque a participação de alguns
estudantes do curso de Geografia, que dialogavam seu conhecimento no manejo dos sistemas de navegação
por satélite, o GPS (Global Positioning System), com o conhecimento empírico dos Tupiniquim e Guarani
a respeito do território.
130 Segundo Barcellos (2008), antes da chegada da empresa Aracruz Florestal, existiam 37 aldeias Tupiniquim
no município de Aracruz (ES).
miolo_geografia_UFF.indd 194 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 195
Santo foram, enfim, homologadas131, totalizando os 18.027 hectares desejados132.
Atualmente, a presença indígena no Espírito Santo encontra-se dissemina-
da não só nessas terras já demarcadas, como também em outras comunidades
que vêm remetendo suas origens e parentesco aos povos indígenas Tupiniquim
e também Botocudos. Os povos Botocudos ou Aimorés compreendiam diversas
etnias do tronco linguístico Macro-Jê, de tradições guerreiras, e que viviam da
caça e coleta em extensas áreas da Mata Atlântica nos vales dos rios Doce, Mucuri,
Jequitinhonha e Pardo.
Habitantes e conhecedores da densa floresta tropical, os Botocudos apresen-
tavam forte resistência à expropriação de seus territórios e tornaram-se alvo das
investidas coloniais de extermínio e dominação através da política dos aldeamen-
tos indígenas, que vinha sendo implantada desde o século XVI pelas Missões Je-
suíticas com o principal objetivo de “pacificar” e incorporar os povos originários
à ordem imposta. No início do século XIX, essa política ganhou destaque nas
províncias do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais, e uma série de aldeamentos
foi criada às margens do rio Doce (MARINATO, 2008)133.
No entanto, a maior parte dos Botocudos recusava-se à sedentarização nos
aldeamentos e manteve focos resistência ao processo de expansão colonial, espa-
lhando-se pelos sertões, promovendo assaltos, correrias e ataques às fazendas e aos
povoados. Buscando demonstrar sua insatisfação, os Botocudos espalharam-se
por todo o território do Espírito Santo e marcharam até a capital da Província em
outubro de 1824, onde permaneceram por quatro meses até o estabelecimento
de um acordo com o governo em 1825, através do qual receberam provisões de
alimento e retornaram para seu território no Vale do Rio Doce (Idem, ibidem).
A resistência dos Botocudos aos aldeamentos indígenas contribuiu para que
ficassem disseminados pelo território, conforme suas próprias práticas de territo-
rialidade. Contudo, se essa configuração indica um princípio de liberdade, por
outro lado a ausência de demarcação dos territórios também produziu certa fra-
131 COIMBRA, Ubervalter. Cinco décadas de luta: finalmente, os indígenas capixabas têm as escrituras de
suas terras. Século Diário, 30/4/2015. Disponível em: http://seculodiario.com.br/22513/10/cinco-decadas-
-de-lutas-finalmente-indios-capixabas-tem-as-escrituras-de-suas-terras
132 14.227 hectares como “Terra Indígena Tupiniquim” e 3.800 hectares como “Terra Indígena de Comboios”
(MARACCI, 2008).
133 “O primeiro aldeamento constituído pela Diretoria do Rio Doce em 1824 foi o de São Pedro de Alcântara,
localizado na margem direita do rio, próximo à sua foz, e reunia 47 Botocudos” (MARINATO, 2008, p.
53). Ao que nos parece, essa localização remete à atual Vila de Regência, no município de Linhares (ES).
miolo_geografia_UFF.indd 195 30/01/17 17:16
196 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
gilidade referente à afirmação étnica do grupo134, reforçada pelos violentos mas-
sacres orquestrados pela política colonial e, a partir do século XX, pelo Serviço de
Proteção ao Índio (SPI):
As terras do norte do rio Doce só se tornaram efetivamente disponíveis à co-
lonização espontânea do solo, à formação de fazendas, às concessões de ter-
ras para a exploração madeireira e para a colonização efetivada por empresas
particulares depois da instalação do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) no
Espírito Santo, em 1911. (MOREIRA, 2001, p. 102)
No entanto, atualmente temos assistido a uma nova emergência étnica de co-
munidades situadas na foz do rio Doce que se afirmam como de origem Botocu-
da. Esse é o caso da Comunidade de Comboios, cuja Terra Indígena passou a ser
identificada em 1979 como de origem Tupiniquim, e atualmente pleiteia junto à
Funai a revisão de seus limites e também a inclusão da identidade étnica Botocu-
da. Processo semelhante vive a Comunidade de Areal, situada próximo à Vila de
Regência (Linhares/ES), cujo território tornou-se extremamente reduzido a uma
gleba de terra que foi requerida como posse por um de seus ancestrais nos anos de
1970. Atualmente, a terra ocupada por Areal encontra-se circundada por extensas
fazendas de gado – possibilitadas pela drenagem das áreas alagadiças feita pelo
Departamento de Obras de Saneamento (DNOS) a partir dos anos de 1950 – e
estruturas de exploração de petróleo e gás da empresa Petrobras –, cujas atividades
foram aí iniciadas nos anos 1970 e incrementadas a partir dos anos de 1980.
A emergência étnica Botocuda da Comunidade de Areal enquanto sujeito de
direitos foi fortalecida pelo acompanhamento do conflito territorial deflagrado en-
tre pessoas da comunidade tradicional pesqueira da Vila de Regência e campesi-
nos da região – de um lado – e a empresa União Engenharia Ltda. de outro.
Na esteira da instalação de infraestruturas voltadas à atividade petrolífera, de
produção de celulose e também portuária, em 2012 a empresa União Engenharia
Ltda. iniciou sua entrada na região da margem direita da foz do rio Doce, a partir da
aquisição de terras de outra empresa que havia aberto falência. Sua chegada iniciou
134 Atualmente, as Terras Indígenas demarcadas e pertencentes aos povos Botocudos são aquelas habitadas pelos
Krenak (considerados os últimos Botocudos de Leste), cuja população, no Brasil, é estimada em 350 pessoas
distribuídas entre a Terra Indígena Krenak (MG), a Terra Indígena Vanuire (SP), e a Terra Indígena Fazenda
Guarani (MG). Outras duas terras indígenas com presença Krenak encontram-se em processo de identifica-
ção: a Terra Indígena Krenak de Sete Salões (MG) e a Reserva Indígena Krenheré (MT) (ISA, 2015).
miolo_geografia_UFF.indd 196 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 197
com o rótulo de “organização não governamental” e a derrubada de cinco moradias
existentes na área. Posteriormente, inseriu cerca de 300 cabeças de gado que passa-
ram a destruir os plantios daqueles que já utilizavam tradicionalmente essas terras
como fonte de subsistência, oriundos da Vila de Regência e arredores. A partir daí,
iniciou o cercamento da área, que não respeitava as antigas “divisas” entre as terras e
restringia o acesso ao espaço tradicionalmente utilizado para cultivos e pesca.
Esse fato provocou a resistência dos ribeirinhos e camponeses que utilizavam
tradicionalmente aquele espaço para reprodução da vida, e passaram a se organi-
zar para retomar sua apropriação. Foi acompanhado, também, pela emergência
da identidade étnica indígena Botocuda em alguns, que alimentou ainda mais
a certeza dos direitos. Sabendo que as terras adquiridas pela União Engenharia
remetem a uma antiga área de posse que não fora regularizada, o grupo passou a
denunciar o processo de grilagem e expropriação, e solicitou ajuda a movimen-
tos sociais e outros apoiadores. Com o apoio do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) e do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA),
quebraram a porteira implantada pela empresa e acamparam na área, iniciando a
construção e a reconstrução das moradias, bem como os plantios. Em virtude dis-
so, o grupo passou a sofrer uma série de represálias e constrangimentos por parte
da empresa, como ameaças de despejo, prisões e o pisoteio do gado sobre as roças.
O processo de resistência territorial ribeirinha, camponesa e indígena contou
também com o apoio do Centro de Defesa Direitos Humanos (CDDH) – que
passou a fornecer assistência jurídica e a informar dos fatos ocorridos à Defenso-
ria Pública do Estado do Espírito Santo e ao Ministério Público Federal (MPF).
Outro apoio fundamental foi dado pelo Observatório dos Conflitos no Campo
(OCCA), projeto de extensão vinculado à Universidade Federal do Espírito Santo
(UFES)135, que produziu um estudo de identificação desse território tradicional-
mente ocupado, posteriormente encaminhado ao MPF de Linhares como docu-
mento de sustentação dos direitos ribeirinhos e campesinos. A entrada do Minis-
tério Público Federal no processo provocou a vinda da Secretaria de Patrimônio
da União (SPU), que por sua vez identificou a prioridade da área – que se en-
contra na zona de inundação do rio Doce – para uso da comunidade tradicional.
135 O Observatório dos Conflitos no Campo (OCCA) é um Projeto de Extensão vinculado à UFES desde o
ano de 2007 e atualmente encontra-se sob minha coordenação. Tem como objetivos registrar e monitorar
os conflitos no campo no estado do Espírito Santo e também produzir estudos no intuito de fortalecer os
processos de resistência dos grupos ameaçados de expropriação territorial.
miolo_geografia_UFF.indd 197 30/01/17 17:16
198 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Assim como no processo de luta territorial travado pelos Tupiniquim e Guara-
ni, a construção da visibilidade do território tradicionalmente ocupado na foz do rio
Doce – produzida pelas ações concretas de resistência e fortalecida pelos estudos
– foi fundamental para o confronto com o processo de grilagem e para o diálogo
com o estado no intuito de se ter reconhecidos os direitos de ocupação territorial.
Da mesma maneira, esses elementos se fazem presentes no processo de resistência
que vem sendo construído pelas comunidades quilombolas no Espírito Santo.
Podemos dizer que em todo o Brasil o movimento de resistência negra remon-
ta ao período do escravismo colonial, quando se articulava como contraponto à
ordem colonial escravocrata ideologicamente eurocêntrica, branca e cristã, fosse
por meio de fugas e revoltas, assassinatos de feitores, suicídio ou formação de
quilombos. No estado do Espírito Santo, essas manifestações também se fizeram
presentes durante o escravismo colonial, e durante o século XIX diversos episó-
dios de conflitos eclodiam entre pessoas escravizadas e seus ditos “proprietários”,
fazendeiros produtores de farinha de mandioca (no Norte) e café136. Esses con-
flitos semearam a formação de quilombos e também uma expressiva população
negra que se distribui por todo o estado.
No norte do estado, as comunidades negras rurais originaram-se das antigas
fazendas produtoras de farinha de mandioca, oriundas da doação de sesmarias e
que tinham como atividade econômica sustentar a economia colonial, fornecendo
alimento a povoados, vilas e fazendas monocultoras, bem como os navios negreiros
que traficavam gente escravizada da África. Com o fim da escravidão e a decadên-
cia da economia colonial no final do século XIX, essas terras passaram a ser aban-
donadas pelos senhores e apropriadas pelos antigos escravizados, que constituiriam
seu novo modo de vida com profundos traços de campesinidade, em diálogo com a
floresta tropical que ainda se fazia presente na região (FERREIRA, 2009).
Conforme já assinalado, a chegada da exploração madeireira e dos monoculti-
vos de eucalipto nos municípios de São Mateus e Conceição da Barra no período
de 1950 a 1970 produziu uma grande expropriação das condições de existência
dessas comunidades negras rurais, que se estendia da terra à morada; da floresta
às águas; das redes de parentesco às trocas e às festas. Nesse contexto, uma nova
136 Conforme pesquisa realizada pela historiadora Francieli Marinato no Arquivo Público do Estado do Espíri-
to Santo (APE-ES), no período de 1814 a 1889 numerosos casos de fuga escrava foram registrados em toda
a província, com destaque aos centros da economia colonial, onde se concentravam as fazendas escravistas:
Itapemirim, Guarapari, São Mateus e os atuais municípios da Grande Vitória (RTID São Domingos e
Santana, 2006).
miolo_geografia_UFF.indd 198 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 199
identidade negra passou a ser construída com profundos contornos políticos liga-
dos à questão da perda da terra, e teve como apoiadores a Comissão Pastoral da
Terra (CPT) e suas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), bem como o Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais. Essa construção política receberia um reforço nos
anos de 1980, com o estabelecimento do Grupo de Consciência Negra (Grucon)
em São Mateus, que trazia a discussão da necessidade de reparação dos danos
provocados pela escravização africana. Em escala nacional, o movimento negro
se articularia durante a Assembleia Constituinte de 1988 e conquistaria o Artigo
68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que determina o dever
do Estado em reconhecer e garantir a propriedade definitiva das terras ocupadas
pelos remanescentes de quilombos.
Embora algumas lideranças constituíssem os trabalhos do Grucon desde os
anos de 1980, a construção do movimento quilombola no norte do estado foi em
grande parte alimentada pela articulação do coletivo político denominado Rede
Alerta Contra o Deserto Verde –, cuja atuação explicitou os impactos provocados
pela implantação da produção de celulose junto a comunidades tradicionais e
campesinas do estado137 – conjugada à promulgação do Decreto n. 4.887/2003,
que regulamentou o Artigo 68 e instituiu a política de regularização dos territó-
rios das comunidades quilombolas. Essa política nasceu fundamentada no prin-
cípio da autoatribuição, que já havia sido determinado em 1989 pela Convenção
169 sobre Povos Indígenas e Tribais da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), ratificada pelo Estado brasileiro em 2002. O princípio da autoatribuição
percorre toda a Convenção 169 no tocante à afirmação identitária dos grupos e
também à escolha dos caminhos para seus territórios. Nesse sentido, desconstrói a
postura da colonialidade do saber e do poder (QUIJANO, 2005), profundamente
marcada pela hierarquia que impõe definições e classificações aos povos e comu-
nidades subalternizados.
Nesse contexto se estrutura e se amplia o movimento quilombola no Brasil, e o
quilombo passa a ser significado não só como território originário das fugas escra-
vas, mas como qualquer espaço de afirmação étnica afrodescendente. Sob a nova
orientação, iniciaram-se os primeiros estudos de identificação dos territórios, que
137 A Rede Alerta Contra o Deserto Verde nasceu nos idos de 1999 da articulação entre sujeitos e grupos
impactados pelos projetos desenvolvimentistas de produção de celulose, apoiados por entidades, sindicatos,
associações, organizações não governamentais, pesquisadores. Inicialmente, envolveu os estados do Espírito
Santo e Bahia; posteriormente, foi se ampliando para outros estados onde os impactos também se faziam
presentes, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul.
miolo_geografia_UFF.indd 199 30/01/17 17:16
200 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
no Espírito Santo constituíram o Projeto Territórios Quilombolas, resultante da
articulação entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e
a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) – onde o projeto se transformou
numa atividade de Extensão. Alguns estudos foram produzidos no período de
2004 a 2006 pelas equipes multidisciplinares que envolviam professores, pes-
quisadores e estudantes. No entanto, até hoje nenhum território quilombola foi
titulado no Espírito Santo – mesmo aqueles originários de terra de herdeiros.
Todos os relatórios de identificação dos territórios quilombolas vêm sendo
questionados, ora pelas empresas, ora por fazendeiros que ocupam essas terras.
Embora em muitos casos essa ocupação seja oriunda de processos ilegais como
a grilagem138, esses sujeitos argumentam serem seus “legítimos proprietários” e
encaminham suas contestações à Justiça, no sentido de invalidar os estudos reali-
zados. Para isso, contam com o apoio de advogados e juízes afeitos à manutenção
do poder dos grandes latifundiários. Quando não conseguem “derrubar” os rela-
tórios, passam a apelar para acordos com as comunidades – que envolvem desde
contratos de comodato com as comunidades até mesmo escandalosas propostas de
“negociação referente ao tamanho do território”139 – e para isso, também recor-
rem a apoiadores que ocupam posições estratégicas dentro da instituição Estado.
Em paralelo aos processos institucionais, as comunidades quilombolas se ar-
ticulam em ações de confronto. Assim, em Linharinho (Conceição da Barra),
alguns processos de retomada do território vêm se implantando. O primeiro de-
les, em 2006, quando se derrubaram os eucaliptos que foram plantados sobre a
área do cemitério ancestral da antiga fazenda escravista ali existente no século
XIX. O segundo, em 2007, quando uma área que se encontrava sob domínio
da empresa Aracruz Celulose foi retomada pela comunidade, que ali estabeleceu
um acampamento, em companhia de outras comunidades quilombolas do Sapê
138 Ao consultarem a documentação das terras nos Cartórios de Registros de Imóveis, esses estudos vêm evi-
denciando numerosos problemas nas Cadeias Dominiais da terra, que explicitam operações fraudulentas
em sua aquisição por empresas e fazendeiros (FERREIRA, 2009).
139 Através dos Contratos de Comodato, a empresa Aracruz Celulose (atual Fibria) vem cedendo áreas onde
determinadas comunidades possam fazer seus plantios, excluindo “bens de raiz”. Dessa maneira, ao mesmo
tempo em que inaugura uma nova postura amistosa na relação com as comunidades, a empresa consegue
reforçar que “a terra é de sua propriedade”. Esses procedimentos vêm provocando a divisão interna em algu-
mas comunidades quilombolas, uma vez que desvia o foco da luta política pelo território. Outra estratégia
por nós presenciada foi a proposta de “negociação do tamanho do território” apresentada pelo presidente
nacional do Incra à Comunidade Quilombola de São Domingos, numa reunião ocorrida na sede do Incra-
-ES em 13/11/2013.
miolo_geografia_UFF.indd 200 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 201
do Norte e também de movimentos sociais. Essa reapropriação se fez a partir
da derrubada dos eucaliptos, que foram substituídos pelos plantios de alimento,
seguida da construção de uma cozinha comunitária. Essa ação durou 21 dias e
foi interrompida por um Mandado de Reintegração de Posse a favor da empresa.
No entanto, conseguiu evidenciar a situação de terra devoluta dessa área – que se
estende a várias outras. A empresa não voltou a plantar eucalipto no local e, atual-
mente, algumas famílias de Linharinho e arredores efetivam sua ocupação através
da construção de moradias e de plantios de alimentos.
Na Comunidade de Angelin I (Conceição da Barra), o processo de retomada
aconteceu em 2010, em uma área que havia sido “deixada” pela empresa Aracruz
Celulose (Fibria) após o corte de eucalipto e foi reapropriada pelo cultivo de
alimentos. Para essa área, a empresa vem propondo um Contrato de Comodato à
comunidade, o que tem provocado muitos desentendimentos entre aqueles que o
querem aceitar e os outros que preferem permanecer na luta pelo território.
Na Comunidade de São Domingos (Conceição da Barra), os conflitos mais
acirrados se estabeleceram no início dos anos 2000 e tiveram como foco principal
a disputa pelo direito de recolher os restos de galhos de eucalipto não aprovei-
tados pela empresa – atividade denominada “facho” – que se apresentava como
a principal atividade de subsistência familiar. A disputa pelo facho eclodiu em
diversos momentos – através de fogo ateado nos eucaliptais, ocupação de áreas
e reuniões com a empresa – e resultou na conquista da autorização em 2003,
com a criação da Associação de Catadores e Lenhadores de Conceição da Barra
(Apal-CB), instituição criada para organizar a atividade e mediar a relação das
comunidades com a empresa.
Esses processos de luta vêm sendo alimentados pela construção da identidade
quilombola, que fortalece o sentido do pertencimento ao território e remete à si-
tuação de sujeito de direitos perante o Estado. Em todos os episódios de resistência
analisados, na construção da identidade, muito presentes estão os conflitos oriun-
dos dos contatos contrastivos com a diferença, e também os estudos que trazem
um olhar de valorização das comunidades, suas histórias vividas, seus saberes. A
explicitação das identidades e dos territórios tradicionalmente ocupados desconstrói
a invisibilidade em que esses sujeitos foram colocados pelo olhar colonial.
miolo_geografia_UFF.indd 201 30/01/17 17:16
202 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
4. Considerações finais
Como procuramos trazer aqui, o estado do Espírito Santo configura um forte
exemplo de lugar onde o imaginário colonial é dominante não somente no con-
texto da colonização europeia, mas se perpetua propagado pelos grupos sociais
dominantes. Esse imaginário colonial coloca na invisibilidade todos os sujeitos
e processos que não condizem com o ideal desenvolvimentista de matriz euro-
cêntrica e capitalista. Assim aconteceu e ainda acontece com os povos originários
que habitavam e ainda habitam esse território; assim aconteceu e acontece com os
povos originários arrancados da África negra como escravos da economia colonial
e seus descendentes. Assim aconteceu e ainda acontece com a implantação dos
projetos desenvolvimentistas sobre os territórios tradicionalmente ocupados.
No entanto, esses povos e comunidades sempre apresentaram seus processos
de r-existência à expropriação de seus territórios e modos de viver. Esses processos
são alimentados pelo desejo de criação dos territórios subjetivos de liberdade, que
possibilitam a germinação das lutas pela retomada dos territórios; pelo reconheci-
mento da própria dignidade; pelo respeito aos seus modos de vida.
A fim de fortalecer esses processos de r-existência, é necessário provocar um
olhar descolonizador que passe a desconstruir o lugar de invisibilidade e inferio-
ridade em que foram colocados os povos originários e as comunidades tradicio-
nais, desde o início da colonização. É preciso, portanto, descolonizar o imaginário,
possibilitar outros olhares acerca do contexto mundial e de seus processos insti-
tuintes, perceber e reconhecer a diversidade de outras possibilidades de vida que
acenam, deslocando a hegemonia da racionalidade eurocêntrico-capitalista, que
se impôs como o padrão civilizatório superior e normal.
Outros caminhos são possíveis fora desta linha rígida da normalidade e supe-
rioridade eurocêntrica que há séculos alimenta os processos des-envolvimentistas
e provoca fome e miséria, a perda da diversidade biológica e cultural, e a degrada-
ção ambiental de dimensões mundiais. Muitos desses outros caminhos possíveis
encontram-se e/ou vêm sendo pensados, experienciados por povos e comunida-
des tradicionais do mundo colonizado do Sul. E para conhecer, é preciso saber
ouvir e efetivar os diálogos entre saberes.
As possibilidades de atuação política da pesquisa se revelam nas escolhas temá-
ticas e metodológicas. Nossa atuação junto aos processos de r-existência de povos
originários e comunidades tradicionais no Espírito Santo vem se concretizando
miolo_geografia_UFF.indd 202 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 203
como processos de Pesquisa e Extensão junto à Universidade, onde os trabalhos
conseguem acessar condições infraestruturais para serem realizados e promovem
experiência e crescimento dos estudantes. Entendemos que dessa maneira a uni-
versidade consegue realizar uma parte importante de suas funções, contribuindo
com reflexões a respeito de questões sociais concretas.
Nesses trabalhos, temos buscado trabalhar de maneira a estimular a expressão
dos sujeitos, que se constituem também como produtores de saberes. Nas his-
tórias de vida que são contadas por seus próprios protagonistas, estes se tornam
então narradores de si próprios, quando suas palavras, saberes e vivências traçam
suas leituras acerca da própria existência. Nos mapas mentais de seus territórios,
encontramos as referências da memória vivida, das perdas sofridas e dos sonhos
que ainda existem. Ambos – as histórias de vida e os mapas mentais – representam
maneiras de se expressar, de narrar e desenhar, de representar o espaço vivido em
tempos passados e presentes. Evocam a proposta do escrever com, que pressupõe
escrever junto, postura de horizontalidade que destrói a distância hierárquica do
escrever sobre. Escrevendo com, temos a oportunidade de compreender e nos in-
serir na realidade enfocada, interagindo com ela, e reagindo a partir dela e de seus
desdobramentos. Escrevendo com, contribuímos para a desconstrução do imagi-
nário colonial e produzimos a visibilidade desses grupos, seus saberes e territórios.
Referências
ACOSTA, Alberto. Buen vivir – Sumak Kawsay. Uma oportunidad para imaginar
otros mundos. Quito-Ecuador: Ediciones Abya Yala, 2012.
ALMEIDA, Alfredo Wagner B. de. Terras tradicionalmente ocupadas: processos
de territorialização e movimentos sociais. In: Revista de Estudos Urbanos e Regio-
nais 6 (1):9-32, Anpur, 2004.
BARCELLOS, Gilsa Helena. Desterritorialização e r-existência Tupiniquim: mu-
lheres indígenas e o Complexo Agroindustrial da Aracruz Celulose. Universidade
Federal de Minas Gerais. Departamento de Geografia (Tese de Doutorado), Belo
Horizonte, 2008.
BECKER, Bertha. O norte do Espírito Santo: região periférica em transfor-
mação. Revista Brasileira de Geografia vol. 35, n. 4, p. 35-110. Rio de Janeiro:
IBGE, 1973.
miolo_geografia_UFF.indd 203 30/01/17 17:16
204 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
CARVALHO, José Jorge de. O olhar etnográfico e a voz subalterna. Série Antropo-
logia n. 261. Brasília, 1999.
COIMBRA, Ubervalter. Cinco décadas de luta: finalmente, os indígenas capi-
xabas têm as escrituras de suas terras. Século Diário, 30/4/2015. Disponível em:
http://seculodiario.com.br/22513/10/cinco-decadas-de-lutas-finalmente-indios-
-capixabas-tem-as-escrituras-de-suas-terras. Acesso em: 4/5/2015.
DIEGUES, Antonio Carlos. O mito moderno da natureza intocada. São Paulo:
Hucitec, 1998.
ECODEBATE – Cidadania e Meio Ambiente. Exploração do pré-sal no Espírito
Santo ameaça áreas preservadas e coloca em risco comunidades tradicionais. Publi-
cado em 4/3/2015. Disponível em: http://www.ecodebate.com.br/2015/03/05/
exploracao-do-pre-sal-no-espirito-santo-ameaca-areas-preservadas-e-coloca-em-
-risco-comunidades-tradicionais/. Acesso em: 3/5/2015.
ESCOBAR, Arturo. La invención del Tercer Mundo: construcción y deconstrucci-
ón del desarrollo. Bogotá/ Colômbia: Editoral Norma S.S., 1998.
______. O lugar da natureza e a natureza do lugar: globalização ou pós-desen-
volvimento? In: LANDER, E. (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e
Ciências Sociais. Buenos Aires: CLACSO, 2005, p. 133-168.
FERREIRA, Simone Raquel Batista. “Donos do lugar”: a territorialidade quilom-
bola do Sapê do Norte-ES. Tese (Doutorado) em Geografia. Programa de Pós-
-Graduação da Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2009.
______. (Coord.). Relatório de Identificação Territorial da Comunidade de São Do-
mingos e Santana. Vila Velha: INCRA, 2006. (mimeo)
GOLDENSTEIN, Léa. Aspectos da reorganização do espaço brasileiro face a novas
relações de intercâmbio – uma análise geográfica do reflorestamento e da utilização
da madeira por indústrias de celulose. Universidade de São Paulo. Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Departamento de Geografia. (Tese de Li-
vre-Docência Geografia Humana). São Paulo, 1975.
GÓMEZ, Jorge Montenegro. Los límites del consenso: la propuesta de desar-
rollo territorial rural en América Latina. In: FERNANDES, Bernardo Mançano
(Org.). Campesinato e agronegócio na América Latina: a questão agrária atual. Bue-
nos Aires: CLACSO, 2008, v., p. 249-274.
miolo_geografia_UFF.indd 204 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 205
GUATTARI, Felix; ROLNIK, Sueli. Micropolítica: Cartografias do desejo. Petró-
polis: Vozes, 1986.
GRUZINSKI, Serge. A colonização do imaginário: sociedades indígenas e ociden-
talização no México espanhol – Séculos XVI-XVIII. São Paulo: Companhia das
Letras, 2003.
HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização. Rio de Janeiro: Bertrand,
2004.
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Povos Indígenas no Brasil. Disponível em:
http://pib.socioambiental.org/pt Acesso em: 4/5/2015.
LANDER, Edgard (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências so-
ciais – perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005.
MAGALDI, Sérgio. Ação do Estado e do grande capital na reestruturação da ativida-
de econômica: o cultivo florestal e a cadeia madeira-celulose/ papel. Universidade
de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Departamento
de Geografia. (Mestrado em Geografia). São Paulo, 1991.
MARACCI, Marilda Teles. Progresso da morte, progresso da vida: a reterritoriali-
zação dos povos Tupiniquim e Guarani em luta conjunta pela retomada de suas
terras-territórios (Espírito Santo-Brasil). Universidade Federal Fluminense/ Insti-
tuto de Geociências/ Departamento de Geografia (Tese de Doutorado). Niterói
(RJ), 2008.
MARINATO, Francieli Aparecida. Nação e civilização no Brasil: os índios Boto-
cudos e o discurso de pacificação no Primeiro Reinado. Dimensões – Revista do
Programa de Pós-Graduação em História da Ufes, vol. 21. Vitória: Ufes, 2008,
p. 41-62.
MOREIRA, Vânia M. Losada. Índios no Brasil: marginalização social e exclusão
historiográfica. Diálogos Latino-americanos n. 003, Universidade de Aarhus, Lati-
no-americanistas, 2001, p. 87-113.
MIGNOLO, Walter. El potencial epistemológico de la historia oral: algunas con-
tribuciones de Silvia Rivera Cusicanqui. In: DANIEL M. (Coord). Estudios y
otras prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder. Caracas: CLACSO/
Universidad Central de Venezuela, 2002, p.201-212.
miolo_geografia_UFF.indd 205 30/01/17 17:16
206 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
______. A colonialidade de cabo a rabo: o Hemisfério Ocidental no horizonte
conceitual da Modernidade. In: LANDER, E. (Org.). A colonialidade do saber:
Eurocentrismo e Ciências Sociais – Perspectivas latino-americanas. Buenos Aires:
CLACSO, 2005, p. 71-103.
OBSERVATÓRIO DOS CONFLITOS NO CAMPO (OCCA). Relatório de
Identificação do Território Tradicional Ribeirinho da Foz do Rio Doce. Vitória,
2014. (mimeo)
PETROBRAS; GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; FÓRUM
DE ENTIDADES E FEDERAÇÕES; ESPÍRITO SANTO EM AÇÃO. ES
2030. Plano de Desenvolvimento. Dezembro, 2013. Disponível em: http://www.
es2030.com.br/oficiais.html Acesso em: 3/5/2015.
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Da geografia às geo-grafias: um mundo em
busca de novas territorialidades. II Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Cien-
cias Sociales – CLACSO. México, Universidad de Guadalajara, 21-22 nov. 2001.
______. A reinvenção dos territórios: a experiência latino-america-
na e caribenha. In: CECEÑA, A. E. (Org.), Los desafíos de las emanci-
paciones en un contexto militarizado. Buenos Aires: CLACSO, 2006 a)
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A Geograficidade do Social: uma con-
tribuição para o debate metodológico sobre estudos de conflito e movimentos
sociais na América Latina. Intergeo, v. 4, p. 05-12, 2006
. ______. Entre América e Abya Yala: tensões de territorialidades. Desenvolvimen-
to e Meio Ambiente, n. 20, p. 25-30, jun-dez 2009. Paraná: Editora UFPR.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder y clasificación social. Journal of worl-
d-systems Research, v. 2, p. 342.386, Summer/ Fall 2000.
______. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER,
E. (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais – perspectivas
latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO, 2005, p. 227-278.
RAFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993 [1980].
SALETTO, Nara. Donatários, colonos, índios e jesuítas: o início da colonização
no Espírito Santo. Vitória: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, 2011.
Disponível em: http://www.ape.es.gov.br/pdf/Donatarios_colonos_indios_
jesuitas2.pdf. Acesso em: 4/5/2015.
miolo_geografia_UFF.indd 206 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 207
WALSH, C.; GARCÍA, J. El pensar del emergente pensamiento afroecuatoriano:
reflexiones (des)de un proceso. In: MATO, Daniel (Coord.). Estudios y otras
prácticas intelectuales latinoamericanas en cultura y poder. Caracas: CLACSO/
Universidad Central de Venezuela, 2002, p. 317-326.
miolo_geografia_UFF.indd 207 30/01/17 17:16
miolo_geografia_UFF.indd 208 30/01/17 17:16
Percursos descoloniais nas
lutas territoriais dos Tupiniqum e
dos Guarani Mbyá no Espírito Santo140
Marilda Teles Maracci
Introdução
Este texto é um esforço no sentido de trilhar por algumas das felizes provoca-
ções propostas para este seminário, particularmente o desafio de tentar compre-
ender “como os conhecimentos e as epistemologias construídas nas lutas sociais
oferecem horizonte de sentidos para a construção do pensamento descolonial”
e como “as teorias, os conceitos e as interpretações do pensamento descolonial
conseguem dialogar com a diversidade de experiências de lutas sociais concretas”.
Pensar estes desafios e questões e tentar escrevê-los já promove inquietações e
conflitos com os condicionamentos coloniais e é, por si, revelador dos enormes
limites que se nos apresentam quando ainda não criamos uma política da nar-
rativa e escrita libertas do que se convencionou como sendo um texto científi-
co. O que fazer com nossas experiências e com o que sentimos quando estamos
pesquisando, escrevendo, dentro do um e para território do saber acadêmico?
140 Texto elaborado para o 1º Seminário “Geografia e giro descolonial: experiências, pensamentos e horizontes
de renovação do pensamento crítico”. NETAJ – PPGEO/UFF e NEGRA – FFP-UERJ, 2014. Baseia-se
na tese de minha autoria Progresso da morte, progresso da vida: reterritorialização conjunta dos Tupiniquim e
dos Guarani no processo de luta pela retomada de suas terras-territórios no Espírito Santo (PPGG/UFF, 2008).
Utilizo no corpo do texto diversos trechos da tese, com diversas, alterações, adaptações e atualizações que se
fizeram necessárias. Sobre a expressão Progresso da vida, progresso da morte que compõe o título da tese, re-
fere-se à expressão insistentemente dita por Werá-Kwaray (Toninho), cacique Guarani da Aldeia Tekoa Porã
(Boa Esperança), município de Aracruz, nas diversas ocasiões do conflito com a empresa Aracruz Celulose:
“Dizem que somos contra o progresso. Somos contra o progresso da morte. Queremos o progresso da vida!”
(Werá Kwaraí).
miolo_geografia_UFF.indd 209 30/01/17 17:16
210 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Neste momento a questão provocadora (dentre outras deste seminário) sobre se
“as linguagens acadêmicas e as tradicionais formas de comunicar as pesquisas são
suficientes para traduzir as diferentes experiências” ganha enorme relevância e as-
sume um caráter de urgência no sentido de uma construção possível. Talvez, por
ainda estar por construir, eu ainda não consiga girar grande coisa neste sentido
aqui. De qualquer forma, o que trago são interpretações impregnadas de desejos
de superação do que nos oprime e inviabiliza a vida, que me foram possíveis neste
feliz encontro com os Tupiniquim e os Guarani Mbyá e a Rede Alerta Contra o
Deserto Verde no Espírito Santo (de 1999 a 2010).
Pensando, então, em termos da construção do pensamento descolonial, a pró-
pria presença-existência dos povos indígenas, no caso a dos Guarani Mbyá e Tupini-
quim, manifestas nas suas enunciações a partir das suas territorialidades no percurso
da luta territorial conjunta desde o ES, é constituída de colonialidade-descoloniali-
dade. A perspectiva de análise aqui proposta apoia-se, portanto, nas elaborações que
os Tupiniquim e os Guarani Mbyá decidiram tornar públicas nos seus discursos,
cartas, atos políticos e demais movimentações e ações no decorrer da sua luta ter-
ritorial, mais especificamente o episódio que eles chamam de “terceira luta”141 pela
retomada de suas terras-territórios que foram tomadas pela empresa transnacional
Aracruz celulose (atual Fibria) desde mais de 40 anos. Isso porque a ideia aqui é, ao
considerar suas territorialidades, não a fazer a partir de tentativas de acesso às suas
mentalidades específicas, mas sim, e essa é uma escolha metodológica, a partir da
tentativa de apreender uma relação de sentido com o argumento que os mesmos
anunciam/comunicam acerca de suas territorialidades, o que pode ser entendido,
emprestando as palavras de Eduardo Viveiros de Castro (2005), como o “pensa-
mento insubmisso, o pensamento irredento, o pensamento indisciplinado, contra o
Estado se quisermos” (CASTRO, 2005, s/n),142 contra o modo de produzir e viver
de uma sociedade, no caso a capitalista moderno-colonial, que lhes nega. Indisci-
141 São três episódios de lutas resultando em Portarias Declaratórias: a “primeira luta” (1975 a 1983); a “segunda
luta” (1993 a 1998) e a “terceira luta” (2005 a 2007). Essa é uma periodização que os Tupiniquim e os Gua-
rani fazem referindo-se aos períodos que iniciam com ações de ocupação territorial e fecham com Portarias
Declaratórias, embora suas lutas territoriais não se restrinjam a esses períodos de maior visibilidade política.
142 “Para nós, em suma, o célebre título lévi-straussiano La pensée sauvage não se referia de modo algum
à ‘mentalidade’ dos ‘selvagens’, mas ao pensamento insubmisso, o pensamento irredento, o pensamento
indisciplinado. O pensamento contra o Estado, se quisermos” (CASTRO, Eduardo Batalha Viveiros de.
Antropologia e a Imaginação da Interdisciplinaridade – Conferência em 18 maio de 2005. Orgs.: Instituto
de Estudos Avançados Transdisciplinares da UFMG (Ieat) e da Fundação de Desenvolvimento da Pesqui-
sa(Fundep) –UFMG – Campus Pampulha).
miolo_geografia_UFF.indd 210 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 211
plina esta que estes povos, ao seu modo, explicitam na sua luta territorial. As lutas
territoriais protagonizadas pelos chamados povos originários e tradicionais explici-
tam conflitos profundos no campo das racionalidades, apresentando importantes
questões que podemos identificar como descolonialmente construídas. No entanto,
considero importante que esse percurso interpretativo se dê “sem naturalizar ou
construir lugares como fonte de identidades autênticas e essencializadas” (ESCO-
BAR, 2005, p. 2). Esforço este importante, pois, se não observado, poderemos
incorrer em projeções de nossas próprias perspectivas, o que poderia ser um fardo
pesado demais para estes povos, mesmo que nos seja sedutor atribuir-lhes certa
reserva ética e ecológica, e que nos parecem tão necessárias no atual contexto so-
cioambiental em que vivemos. Afinal, estamos mergulhados num mundo em crise
ambiental profunda, que é, sabemos, de natureza civilizacional!
Mesmo sob tais “cuidados”, me ocorre perguntar: por que captamos, percebe-
mos e/ou sentimos o que chamo aqui de “percursos descolonais” das lutas territo-
riais destes povos? Bem, o que consigo neste momento é pensar que, talvez, seja
porque somos (ou ainda somos!) o que permanece nestas comunidades. De modo
que, muito mais do que pessoas externa e altruisticamente sensíveis aos seus dra-
mas, estamos atolados dentro destes dramas enquanto humanidade. Talvez por
isso me faça tanto sentido a expressão que ouvi Carlos Walter Porto-Gonçalves
dizer algumas vezes: “Mais que geógrafos dos movimentos sociais, somos geógra-
fos em movimento”. E essa condição é que me faz ter a sensação de que algumas
fronteiras entre nossas diferenças parecem se diluir em alguns encontros no per-
curso das lutas e/ou da construção do pensamento na perspectiva da contra mão
da moderno-colonialidade.
O que trago sobre a luta territorial dos Guarani Mbyá e dos Tupiniquim no
Espírito Santo foi gestado na experiência conjunta de lutas em rede, no período
de 1999 a 2010, enquanto geógrafa membro da AGB-seção Vitória/ES e como
membro da “Rede Alerta Contra o Deserto Verde”,143 um coletivo de movimentos
e lutadores sociais do campo e da cidade: camponeses, indígenas, quilombolas,
pescadores, mulheres, estudantes, cientistas, ambientalistas, artistas, associações
científicas e culturais e outras, sindicatos de trabalhadores, entidades religiosas,
organizações não governamentais... e pessoas.
143 A Rede Alerta Contra o Deserto Verde tem início no ES e BA (1999), estende-se para RJ, RS e MG, locais
onde ocorrem os mesmos conflitos envolvendo questões decorrentes da monocultura de árvores industriais,
e alcança diversos lugares no mundo.
miolo_geografia_UFF.indd 211 30/01/17 17:16
212 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Esta experiência possibilitou-me pensar sobre quem somos e de onde falamos
nestas lutas. Numa tal rede de articulações de lutadores sociais os mais diversos,
em algumas situações, nos deparamos, por exemplo, com contradições que (den-
tre outras) rumaram para uma certa fragmentação: as comunidades diretamente
atingidas (indígenas, quilombolas, pescadores, camponeses) compondo um cole-
tivo, e os “apoiadores” compondo outro, e estes últimos com funções limitadas a
esta condição. Poderíamos tentar discutir a colonialidade que estas contradições
expressam e a complexidade que envolve as lutas sociais, mas não é este o obje-
tivo aqui. O que quero provocar com o que foi dito é uma reflexão sobre “quem
somos” nestas relações de luta com as comunidades indígenas e tradicionais para,
assim, talvez tentarmos responder à questão “de onde falamos” nestes espaços.
No contexto da rede de lutas à qual me referi, a percepção de que “somos todos
impactados” pela racionalidade econômico-industrial-capitalista representada pela
empresa transnacional Aracruz Celulose foi necessária e inevitável como tentativa
de desconstrução desta perturbadora fragmentação que produz “eles” e “nós”,
com consequências desfavoráveis em relação àquilo que nos uniu pelo diálogo e
convergências de perspectivas. A enunciação “somos todos impactados” reivindica
a necessidade da construção destas lutas coletivas (constituídas, portanto, por
uma diversidade de lutadores sociais) de modo a articular a compreensão das
suas singularidades com aquilo que nos assemelham nas diferenças, ou seja, as
semelhanças preexistentes e as construídas no percurso das lutas na perspectiva da
construção de outro mundo com diversos mundos de viver e que pressupõe, ne-
cessariamente, a desconstrução das razões homogeneizadoras-monocultoras com
sua matriz colonial que “fundamentaliza” as práticas de opressão social e espacial,
de destruição das vidas e territórios e que tanto nos atingem.
Aqui faz sentido atentar para a narrativa e suas implicações, pois ao narrar nos
colocamos numa determinada relação, de modo que o que narramos, ou quando
narramos uma história, esta se apresenta intermediada por quem narra. O que trago
aqui resulta da referida construção da luta em rede, principalmente da espacializa-
ção política construída pelos Tupiniquim e os Guarani Mbyá, onde a referida Rede
Alerta talvez seja o espaço mais significativo. Sinto que falo, entretanto, a partir de
vários lugares: o da sociedade envolvente, já que não pertenço a nenhum território
indígena; o lugar de pessoa, brasileira e atingida pela racionalidade hegemônica e
sua moderno-colonialidade e o lugar do encontro de perspectivas de luta, superação
e construção de mundo(s) possível(eis) que esta experiência possibilita.
miolo_geografia_UFF.indd 212 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 213
Sendo assim, sinto-me licenciada para dizer que o modo como percebo os
percursos descoloniais nas lutas dos indígenas no ES reflete uma articulação entre
o esforço de compreensão das suas singularidades e daquilo que constituiu as
semelhanças nas diferenças. Estes dois povos construíram juntos lutas pela reto-
mada das suas terras-territórios por 40 anos, bem como suas reterritorializações,
sendo que nos últimos anos (de 1999 a 2008 aprox.),144 integraram a citada rede
de diversos movimentos e lutadores sociais onde encontros de perspectivas de luta
foram importantes fatores na construção da sua espacialidade política, espaciali-
dade esta multiescalar desde o local ao global.
No percurso das lutas territoriais que integraram a Rede Alerta, a luta dos
Tupiniquim e dos Guarani Mbyá, assim como das comunidades quilombolas
do Sape do Norte, figuraram como centrais. As problematizações envolvendo
construções, desconstruções e reconstruções (tanto simbólicas como das lógicas
consolidadas) no embate com a Aracruz Celulose compuseram o ambiente deste
singular conflito de racionalidades distintas, onde o empreendimento celulósico
representou, é claro, a racionalidade hegemônica.
Espero que estas problematizações iniciais aqui colocadas rapidamente pos-
sam nos acompanhar nessa trajetória expositiva sobre como percebo os “percursos
descoloniais nas lutas territoriais conjuntas dos Tupiniquim e dos Guarani Mbyá
no Espírito Santo”.
Contextualizando
Para entender o contexto geográfico e político da luta territorial dos Tupiniquim
e dos Guarani Mbyá, o processo de implantação e consolidação do empreendi-
mento celulósico no Espírito Santo pelo Grupo Aracruz, mais tarde Aracruz Ce-
lulose S/A (atualmente Fibria), é um recorte que se impõe.145 Esta empresa figura
como protagonista ao mesmo tempo em que resulta de um processo de redefini-
ções econômicas e políticas nacionais e internacionais que tiveram início a partir
144 A partir de então os Tupiniquim e os Guarani Mbyá iniciam uma nova etapa de lutas para a reconversão
das terras de eucalipto em terras-territórios. Nesse novo percurso, sua espacialidade se constrói com outros
espaços e atores, não mais a Rede Alerta.
145 Falar em contexto geográfico aqui é falar da geografia que está proposta: um território do saber que tem
como objeto a complexidade espaçotemporal das relações sociais nas dimensões da natureza e da sociedade.
Portanto, o contexto geográfico se refere aos aspectos econômicos, políticos, culturais e ambientais do recorte
temporal e espacial em estudo, a saber, o complexo geográfico que envolve os territórios Tupiniquim e
Guarani Mbyá e seu entorno.
miolo_geografia_UFF.indd 213 30/01/17 17:16
214 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
de 1945, constituindo um novo padrão de acumulação de capital, seguido de
significativas alterações estruturais nas relações econômicas e de poder internacio-
nais.146 O que significou a imposição, a partir das sociedades dos países do Norte
e das elites dos países do Sul, de um padrão desenvolvimentista, industrializante,
tecnicista, extremamente consumista, ambiental e socialmente insustentável para
a humanidade, em particular para as sociedades dos países do Sul. No estado do
Espírito Santo, estas mudanças foram efetivadas significativamente a partir da
década de 1970, no regime da ditadura civil e militar.
Carece sempre lembrar que o regime ditatorial com amplo apoio das eli-
tes político-econômicas brasileiras desenvolvimentistas-industrializantes, institui,
sob violenta imposição, um modelo de desenvolvimento que atualiza, intensifica
e amplia práticas das matrizes coloniais iniciadas desde o período das invasões
europeias, especialmente quando transforma a natureza e suas formas sociais de
apropriação. Por via do Estado da ditadura militar, a expansão do comércio in-
ternacional e a disponibilidade de capitais para investimento e financiamento
foram mecanismos que compuseram a objetivação das razões das elites indus-
trializantes brasileiras e seu projeto de poder via inserção da economia nacional
brasileira no padrão mundial de acumulação de capital em processo, um projeto
em sintonia com os interesses da elite política do Espírito Santo, num contexto
em que as nações anunciavam o fim do “atraso agrário”. Grandes projetos de
investimentos agroindustriais, incentivos estatais à modernização da agricultura
no período entre 1960 e 1980 e o envolvimento dos investidores que operavam
tradicionalmente nos mercados internacionais de celulose compuseram o quadro
nacional específico de criação de condições para a implantação e a consolidação
do empreendimento celulósico no Espírito Santo, com profundas consequências
ambientais e sociais.
No final da década de 1960 o grupo empresarial Aracruz Celulose S/A (atual
Fibria)147 implantou-se no litoral norte do Espírito Santo, estabelecendo um novo
padrão de conflitividade no complexo geográfico onde viviam os Tupiniquim e
os Guarani Mbyá, gerando um amplo quadro de destruição da diversidade so-
cioprodutiva local. Sua implantação, consolidação e expansão no Espírito San-
to significou um processo de apropriação/expropriação de grandes extensões de
146 Cf.: Porto-Gonçalves (2006).
147 A Fibria (ex- Aracruz Celulose S/A) é grande produtora mundial de celulose branqueada de fibra curta para
exportação.
miolo_geografia_UFF.indd 214 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 215
terras e águas, por invasão, para o plantio da monocultura de eucalipto.148 Terras
e águas estas de Mata Atlântica, de indígenas, camponeses, pescadores e quilom-
bolas dando sequência ao processo de espoliação das populações locais preexisten-
tes, destruindo seus modos (não capitalistas) de viver e produzir, sua diversidade
social e ambiental, seguindo as pegadas da matriz colonial. A planta do complexo
fabril foi construída sobre uma aldeia Tupiniquim, a aldeia “Macacos”. O em-
preendimento celulósico alterou, assim, substancialmente a estrutura fundiária
do estado capixaba com rápida e expressiva concentração de terras. E alterou a
dinâmica e a disponibilidade hídrica na região, restringindo significativamente,
para as comunidades locais, o acesso social à água, aprofundando danos sociais e
ambientais e conflitos territoriais no estado. A indústria da celulose está entre as
maiores consumidoras de água em todo o seu processo produtivo.
No que se refere ao espaço urbano, as profundas alterações provocadas no
campo geraram profundas alterações nos núcleos urbanos, especialmente os de
imediata relação com o empreendimento, conforme relato dos estudos que fize-
mos em 2002:
Com a consequente substituição das áreas de subsistência dos indígenas pelo
plantio de eucalipto, ocorre forte deslocamento migratório do campo para a
cidade-sede (Aracruz), que contava até então com 5.500 habitantes. Nesse
mesmo período, as empreiteiras contratadas para a implantação do projeto ab-
sorvem cerca de 10.000 empregados. O município de Aracruz e o povoado de
Barra do Riacho (em Aracruz), onde se localizam a fábrica e o porto, crescem
desordenadamente, sem contar com infraestrutura que possa, ainda que em
um patamar mínimo, dar condições dignas de vida a esses trabalhadores, uma
vez que a região se tornara polo de atração de fluxos migratórios seguramente
superiores aos postos de trabalho existentes, intensificando o quadro de carên-
cias urbanas. (AGB-ES, 2003, p. 10) 149
148 Ainda na década de 1960, o Grupo Aracruz já concentrava sob seu domínio aproximadamente 40 mil
hectares de terras no município de Aracruz (ES). Na primeira metade da década de 1990, na ocasião da
primeira expansão da fábrica de celulose, os plantios da empresa totalizavam 83 mil hectares e ocupavam
1,8% do território estadual, e 17,89% da chamada “fatia nobre” da área agricultável do Espírito Santo
(33% da área total do estado). Segundo o próprio Relatório de Sustentabilidade 2008 publicado pela Ara-
cruz Celulose, a empresa alcançava até esta data os estados do Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais e Rio
Grande do Sul, totalizando aproximadamente 433 mil hectares de terras sob sua propriedade (ARACRUZ
CELULOSE S/A, 2008).
149 Relatório sobre os “Impactos da apropriação dos recursos hídricos pela Aracruz Celulose nas terras indíge-
nas Guarani e Tupiniquim – ES”. Associação dos Geógrafos Brasileiros – AGB/seção ES (AGB-ES, 2003).
miolo_geografia_UFF.indd 215 30/01/17 17:16
216 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Um amplo espectro de questões, portanto, funda e atravessa os conflitos ter-
ritoriais gerados pela implantação, consolidação e expansão da empresa Aracruz
Celulose, constituindo, assim, um quadro de profundos e dramáticos conflitos,
fértil em problematizações da racionalidade instituída e hegemonizada desde o
sistema-mundo-ocidental-moderno-colonial. Sem o propósito de dar conta de
toda essa complexidade que constitui esses conflitos, são privilegiadas aqui al-
gumas questões que figuraram com maior ênfase, tanto na pauta do movimento
territorial indígena no Espírito Santo quanto na minha própria percepção.
Trajetórias específicas e conjuntas dos Tupiniquim e dos Guarani Mbyá
Os Tupiniquim
Consta que em 1500 os Tupiniquim habitavam a faixa territorial contínua
situada entre o sul da Bahia e o Paraná, também habitavam as margens do Je-
quitinhonha em MG, a costa e o sertão da Bahia e a serra de Ibiapaba no Ceará
(GEORG, 1982). Constituem (segundo especialistas)150 um subgrupo dos Tupi-
nambá que habitavam estreita faixa de terra entre Camamu (Bahia) e o rio São
Mateus no Espírito Santo.151 Tal como ocorrera com outras populações indíge-
nas, submetidos a violentos massacres e a rigorosas restrições territoriais (políticas
de integração e aldeamentos forçados) por parte dos colonizadores, enfrentaram
uma redução populacional que quase os colocou em situação de extinção.152 Os
150 Conf.: Klítia Loureiro (2006); C. A. Rocha Freire, Museu do Índio (julho de 1998); Prezia e Hoornaert
(1989).
151 A população Tupiniquim foi estimada por John Hemming, que esteve no Espírito Santo com a frota de
Villegagnon em 1557, em 55 mil habitantes no trecho situado entre o Espírito Santo e o Sul da Bahia
(Hemming e Gold, 1978, in Revista Proposta, Dez/Mai 2005/06).
152 Em 7 de junho 1559, o português Mem de Sá, terceiro governador-geral do Brasil (1558-1572), destruiu
aldeiasTupiniquim na Bahia e relatou ao Rei de Portugal os massacres como um grande feito: “Entrei nos
Ilhéus, fui a pé e dei na aldeia e a destruí e matei todos os que quiseram resistir e a vinda vim queimando e
destruindo todas as aldeias [...] de maneira que nenhum Tupiniquim ficou vivo.[...] destruí muitas aldeias
fortes e pelejei com eles outras vezes em que foram muitos mortos e feridos e já não ousavam estar senão
pelos montes e brenhas onde matavam cães e galos e, constrangidos da necessidade, vieram a pedir mise-
ricórdia e lhes dei pazes com condição que haviam de ser vassalos de Sua Alteza e pagar tributos e tornar a
fazer os engenhos (MEM DE SÁ, 1560, citado por CAMPOS, 1981, p. 44). Segundo estudos da Funai,
“após o massacre dos Tupiniquim de Ilhéus, o governador Mem de Sá atacou os ‘gentios’ do Espírito Santo
[...] só com a presença dos jesuítas e o início dos aldeamentos, a situação ficaria ‘sob controle’, estando então
configurado o projeto colonial” (GT/Funai/ n. 0783/1994 – fl. 25).
miolo_geografia_UFF.indd 216 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 217
grupos indígenas que resistiram sofreram um processo dramático de restrições
territoriais153 por meio da repressão aos seus ritos, língua, tradições e liberdade,
restrições estas que ainda vemos atualizadas.
Segundo consta no Relatório da Funai (GT/Funai, Portaria n. 0783/94), o
processo de aldeamento culminou com a entrega, pela Coroa Portuguesa aos Tu-
piniquim, de uma sesmaria de terras correspondente a seis léguas em quadra, no
século XVII. “O território da sesmaria tinha 200 mil hectares e se estendia de Santa
Cruz, distrito de Aracruz [município], até a aldeia de Comboios e só foi demarcado
pela Coroa Portuguesa no ano de 1760” (LIMA, 2002) quando foi re-confirma-
da pelo “Termo de Concerto e Composição”. (Funai – Grupo Técnico, Portaria nº
0783/94). Essa foi, portanto, a primeira demarcação de terras Tupiniquim.
Estas terras de sesmaria estão ocupadas por vilas e cidades na sua quase tota-
lidade (além das terras que foram apropriadas pela empresa Fibria, ex-Aracruz
Celulose S/A). Os Tupiniquim permaneceram nas áreas do território demarcado
pela Coroa, especificamente a que circunda o atual município de Aracruz, dis-
persos em dezenas de aldeias, até a primeira metade do século XX. Estas aldeias
foram destruídas pelo constante processo de invasão, expulsão e apropriação de
seus territórios, mas parte dos Tupiniquim conseguiu permanecer nestas terras.
Os Tupiniquim e Guarani do Espírito Santo formam um povo, unido pelos
laços históricos, de origem, de luta e de vida em comum. Os tupiniquins, por
ocuparem o litoral, de São Paulo até o sul da Bahia, foram os primeiros a ser
massacrados com a chegada dos europeus. Durante muito tempo fugimos da
aniquilação, restando aqui em Aracruz e região os últimos tupiniquins. Esse é
o nosso território, apesar dele ter sido muito reduzido. Hoje estamos reivin-
dicando apenas 18.000ha, todos eles ocupados pela Aracruz, enquanto que o
governo homologou apenas 7.000ha (Cacique Tupiniquim Djaguaretê, entre-
vista à A Nova Democracia, 2006). 154
Atualmente os Tupiniquim se organizam em cinco aldeias e apenas no Espírito
Santo, nas Terras Indígenas (TIs) demarcadas pela União no município de Aracruz,
153 Como sabemos, a Lei n. 601 de 1850 (Lei de Terras), que inaugurou uma nova ordem colonial, a do
“apagamento” dos vestígios e dos direitos das populações indígenas no Brasil, significou uma alteração
substancial no perfil jurídico de acesso à terra por parte da população indígena (JOSÉ DA SILVA, 2001).
154 Tupiniquins e Guaranis do Espírito Santo: para onde vai a Aracruz e o desgoverno. A Nova Democracia,
Ano IV, n. 29, abril de 2006.
miolo_geografia_UFF.indd 217 30/01/17 17:16
218 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
litoral norte do estado. São os últimos de seu povo. Falantes da língua Tupi litorânea
da família linguística Tupi-Guarani no passado, atualmente os Tupiniquim usam
apenas o português, mas estão em pleno processo de recuperação do Tupi.
Os Guarani Mbyá
O grupo Guarani Mbyá liderado por Tatãtxi Ywa Reté155 (mulher xamã) che-
gou no Espírito Santo na aldeia de Caieiras Velhas (Tupiniquim) na década de
1960, seguindo sua trajetória territorial nos caminhos do sonho,156 revelação xa-
mânica, até chegar na yvy apy,157 até fundar em 1979 a aldeia Tekoa Porã (Boa
Esperança) em Santa Cruz, no município de Aracruz (ES), nas proximidades
da aldeia Tupiniquim que os recebera. A aldeia Boa Esperança representava o
anseio de vir a ser o tekoa porã, o “projeto tekoa porã, um espaço de inter-relações
materiais e simbólicas, onde o equilíbrio natural e o social se alimentam um do
outro” (CICCARONE, 2001, p. 341). “Tekoa Porã quer dizer que nunca, nunca
pode brigar [...], Tekoa é aldeia e Porã é bem, alimento, fartura, planta de comer,
fruta” (informação verbal por Marilza, neta de Tatãtxi Ywa Reté).158 É possível que
esse aldeamento do Espírito Santo seja um yvy apy, segundo Maria Inês Ladeira
(1994) e Celeste Ciccarone (2001), ou seja, a ponta ou a extremidade da terra, ou
o “fim do mundo” e também o “começo do mundo”.
Os Guarani Mbyá relatam:
O povo guarani do estado do Espírito Santo veio do Sul do País, na década
de 40, guiado pela líder religiosa Tatantin Guareté, minha bisavó. Ela teve a
revelação de que em razão das ameaças dos grileiros e fazendeiros, interessados
na erva-mate, deveríamos buscar outro lugar para viver. Os Guarani creem
155 São encontradas diversas grafias referindo-se ao nome da xamã, tais como Tatantim Rua-Retée, Tatati Yva
Re ete, Tãtãxi Ywa Reté, Tatãtxi Ywa Reté.
156 Observaram Melià e Nagel (1995) que “o Guarani sonha e sabe sonhar” e “como outros índios da família
tupi-guarani, guia-se pelos sonhos”. O sonho Guarani constitui-se em “atividade privilegiada para se rece-
ber a reza, e a reza é a forma superior da palavra, fonte de conhecimento e força para ação”, acrescentam
Melià e Nagel (1995). E ainda, “o poder e prestígio do Guarani está na palavra, sobretudo, na palavra rezada
ritualmente. Ela depende diretamente do sonho”, porque “o Guarani realiza no sonho atividades que su-
põem vida acordada. Sonhar é uma capacidade para a qual alguém se prepara”. (MELIÀ e NAGEL, 1995,
p. 9, 11-12, in: FLEK, 2003, p. 182). “Sonhar é dizer. Eis a história Guarani.” (MELIÀ, 1988, p. 12).
157 Yvy apy, local de onde é possível alcançar yvy mara ey (a terra perfeita ou terra sem mal).
158 CICCARONE, 2001, p. 341.
miolo_geografia_UFF.indd 218 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 219
que o Grande Espírito (Nhanderu), através de revelações aos mais velhos, aos
religiosos, guia nosso povo na busca de uma terra sem males, melhor para
viver no mundo, apesar dos Guarani também buscarem o espaço místico, que
é a Terra sem Males (Yvy Marã Ey). Guiando nosso povo, minha bisavó veio
caminhando. Ficava um ano, dois, em algum local, onde fundava aldeias que
ainda estão lá porque sempre permanece alguém. Depois de São Paulo, onde
morreu meu bisavô, continuou. Parou em Parati, depois em Campos, depois
em Krenak, em Minas Gerais, no Vale do Rio Doce. Veio para o Espírito San-
to, onde fez contatos com os Tupiniquim, que já sofriam com a violência da
Aracruz. Nesse tempo, minha bisavó e os clãs saíram dali e foram para Guara-
pari, no sul do ES. Era época da gerência militar, e o SPI, Serviço de Proteção
ao Índio, hoje Funai, à força, empurrou todos os índios para os caminhões e os
levaram para Minas Gerais. Lá num lugar chamado Fazenda Guarani, próximo
de Governador Valadares, o SPI tinha essa terra demarcada como se fosse um
presídio. Ali eram confinados os Pataxó, Guarani, Maxacali e outros povos,
tudo junto. Então, depois de algum tempo – nessa época eu estava com 5 ou
6 anos –, os Guarani, guiados por suas tradições, resolveram sair de lá fugindo
da vigilância do SPI. Chegamos então em Krenak, onde vivem os descenden-
tes dos Botocudos, e depois em Caieiras Velha, aqui em Aracruz, onde estão
os Tupiniquim. Nessa época, havia vários posseiros nas aldeias e as lideranças
mais velhas começaram a lutar em busca de soluções para demarcação. Aí foi
criada a luta conjunta. (Cacique guarani Werá DJekupé, entrevista à A Nova
Democracia, 2006).159
Então, deu sono e o espírito de Deus [Ñande ru] falou assim para minha mãe:
“Tem nesse lugar uma terra de Guarani e uma terra de Botocudo, índio tam-
bém. Ela, de manhã, levantou e contou para mim: ‘Olha, minha filha, Deus
[Ñande ru] falou para nós procurar porque tem um pedaço revelado para nós
morar. Tem tudo lá em Caieiras Velhas’ [aldeia Tupiniquim]”. Viemos a pé de
Vitória, procurando e, quem vem procurando, tem que rezar para Ñande ru
e aí Ñande ru mostra no sonho. Esse lugar era para ela uma terra prometida,
onde antigamente Guarani trabalhava, mas Guarani já foi. Era esse que mos-
trava para minha mãe. Foi sinal, era Caieiras Velhas. Lá tinha uma igrejinha
igual a essa, mas toda de pedra, não era de palha (Aurora Carvalho da Silva –
Krexu Miri, filha de Tatãtxi Ywa Reté).160
159 Tupiniquins e Guaranis do Espírito Santo: para onde vai a Aracruz e o desgoverno. A Nova Democracia,
Ano IV. n. 29, abril de 2006.
160 CICCARONE, 2001, p. 297. Dona Aurora, seguindo a tradição de sua mãe Tatãtxi ou Maria, exerceu
liderança espiritual em todo o território Guarani Mbyá (LADEIRA; MATTA, 2004, p. 12).
miolo_geografia_UFF.indd 219 30/01/17 17:16
220 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Em Caieiras Velhas tinha uma casa de pedra, é do antigo e há séculos que ele
fez a casa de pedra. Santa Cruz também tinha e por isso minha avó vinha lá do
Rio Grande do Sul, vinha conhecendo e vinha descobrindo onde o Guarani
morava. Para minha avó, quando ela estava rezando, Ñande ru mostrava a vi-
são e aí ela já sabia, falava para nós onde tinha a tava [ruína da igreja de pedra],
onde os Guarani moravam e por isso, onde tem tava é onde nós queremos
ficar. Ñande ru Tupã falava para ela: “Aqui é um lugar onde você pode ficar,
plantar, fazer a casa, fazer Opy [casa de reza]. (Jonas, neto de Tatãtxi)161
Ñande ru revelou para minha mãe uma terra e mostrou que tinha uma tava,
uma igreja de antigamente. Minha mãe me mandou procurar e nós viemos
procurar’. [...] Paramos em Caieiras Velhas [aldeia Tupiniquim] e moramos
não sei quanto tempo e o meu irmão plantou três pé de muda de coco Bahia.
(Aurora Carvalho da Silva, ou Krexu Miri, filha de Tatãtxi Ywa Reté) 162
Sobre essa ressignificação dos Mbyá sobre as tavas encontradas, ou seja, as
igrejas jesuítas construídas pelos Guarani, Adilson Manfrin (2004), citando Me-
lià (1991), nos adverte lembrando que o autor faz um alerta sobre o fato de, na
elaboração da história Guarani, não ser possível prescindir da referência à histó-
ria colonial. Embora sua história não se limite a esta referência, ao construí-la
Melià “sugere uma inversão [...] na perspectiva dos Guarani, percebendo como
eles solucionavam as situações de crise, diante dos problemas apresentados pelas
mudanças planejadas pelos jesuítas” (MANFRIN, 2004, p. 39).
Na sua caminhada territorial, no guatá, os problemas que se apresentaram
exigiram dos Mbyá soluções na sua perspectiva Guarani. Com as restrições ter-
ritoriais que lhes foram impostas pelas ações dos jesuítas (“reduções”, controle e
interpretação arbitrária dos sonhos dos Guarani163 etc.); SPI e Funai (transferên-
cias e confinamentos em reservas, aldeamentos forçados, os “agríndios”, Colônia
Penal Guarani, Reformatórios Indígenas...), vigiados e ilhados em um oceano de
civilização nacional-ocidental, os Guarani ficaram reclusos em áreas separadas
umas das outras por cidades, plantações e/ou acidentes geográficos. Assim, se
conformou a ocupação Guarani principalmente no Sul e no Sudeste do Brasil.
161 CICCARONE; 2001, p. 297-298.
162 CICCARONE, 2001, p. 297. Seguindo a tradição de sua mãe Maria Tatãtxi, Aurora exerceu liderança
espiritual em todo o território Guarani Mbyá (LADEIRA; MATTA, 2004, p. 12).
163 Cf.: Melià e Nagel (1995); Flek (2003); Ciccarone (2001).
miolo_geografia_UFF.indd 220 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 221
Fazendo um “aparte”, cabe aqui um comentário pertinente sobre a criação
da SPI. A resistente presença dos indígenas no Brasil e o relativo fracasso das
tentativas apaziguadoras das missões católicas, somadas às repercussões nacionais
e internacionais negativas do País em relação às políticas indigenistas, desdobra-
ram-se em outras atualizações do projeto colonialista: a criação do SPI (Serviço
de Proteção ao Índio),164 órgão de gestão federal como forma de exercício do
poder de Estado no intento geopolítico, territorial e simbólico de nacionalização.
Segundo Vânia M. Losada Moreira:
As terras do norte do rio Doce só se tornaram efetivamente disponíveis à co-
lonização espontânea do solo, à formação de fazendas, às concessões de ter-
ras para a exploração madeireira e para a colonização efetivada por empresas
particulares, depois da instalação do Serviço de Proteção aos Índios (SPI) no
Espírito Santo, em 1911 [...]. (MOREIRA, 2001, p. 102)
Prosseguindo sobre as trajetórias territoriais dos Guarani Mbyá, sua caminha-
da, o guatá, se realiza na perspectiva da re-fundação do mundo Guarani. Segundo
Celeste Ciccaroni, o guatá “é a representação do percurso de reatualização do
mito original da fundação do mundo Mbyá e de seus heróis fundadores [...]. Um
rito de identificação de um povo que não para, um povo que caminha no espaço
vivenciado como um campo de constante travessia, movimento e reciprocidade,
uma comunicação de palavras, bens, mulheres e homens que circulam ininterrup-
tamente” (CICCARONE, 2001, p. 7). Segundo B. Meliá, “a terra que procura é
a que lhe servirá de base ecológica” (MELIÁ, 1989, p. 293).
Tekoa Porã no Espírito Santo era para os Mbyá essa base ecológica, um espaço
destinado a eles pelos deuses para realizar seu modo de vida na união e no forta-
lecimento recíproco da coletividade e da xamã Tatãtxi Ywa Reté. O tekoa porã, o
lugar revelado em sonho, foi confirmado pela presença das tavas construídas pelos
seus ancestrais Guarani nos tempos das missões jesuíticas. Nestas terras entrecru-
zam-se territórios Tupiniquim e Guarani Mbyá.
164 O Serviço de Proteção aos Índios (SPI) foi criado pelo Decreto-Lei n. 8.072, de 20 de junho de 1910, com
o objetivo de ser o órgão do governo federal encarregado de executar a política indigenista. O órgão foi
chefiado pelo marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, descendente de índios. No ano de 1967, após
a saída do marechal Rondon, foi extinto o SPI devido a inúmeras denúncias de irregularidades administra-
tivas. No mesmo ano foi criada em seu lugar a Fundação Nacional do Índio (Funai).
miolo_geografia_UFF.indd 221 30/01/17 17:16
222 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Num desses percursos dramáticos, o que significa muitas vezes adentrar es-
paços urbanos para a venda de seu artesanato, o grupo Mbyá foi removido pela
Funai para o reformatório “Fazenda Guarani” (Carmélia/MG).165 “A estratégia
de sobrevivência pode resultar na desistência temporária do propósito de alcan-
çar e reocupar os lugares encantados” (CICCARONE, 2001, p. 258). Por fim,
conseguiram fugir tempos depois aliando-se aos Krenak e à família Tupiniquim
que lá também estava, conseguindo retornar aos poucos para a aldeia Tupiniquim
Caieiras Velhas.
Nesse retorno depararam-se com a transfiguração do aldeamento de seu povo,
agora cercado pelos eucaliptos e com parte das terras loteadas e vendidas pelo
prefeito de Aracruz. Com a implantação da empresa, Tekoa Porã tornara-se um es-
paço diminuto, de sofrimento, infortúnio, doença, mas que tinha que ser preser-
vado por ser um lugar eleito, verdadeiro para os Guarani (CICCARONE, 2001,
p. 250). Essa então necessidade que se apresentava, a de preservação do lugar
eleito, o Tekoa Porã, impulsionou-os à luta junto aos Tupiniquim pela retomada
de suas terras-territórios no ES.
Apesar destas restrições territoriais, os Mbyá habitaram (e habitam até hoje)
uma mata ainda restante nas proximidades, cerca de 40 hectares, onde está a
aldeia Tekoa Porã (traduzidas por eles como aldeia Boa Esperança) que se confi-
gura como um lugar de referência para o povo Mbyá. O pequeno grupo de 300
Guarani Mbyá permaneceu na aldeia Boa Esperança e, unidos aos Tupiniquim,
iniciaram as lutas conjuntas pela retomada de suas terras-territórios. Atualmente
os Guarani Mbyá se organizam em quatro aldeias nestas terras.
165 Parte do grupo ficou em Caieiras e outra parte (com Tatãtxi Ywa Reté) deslocou-se para o município de Guara-
pari (ES), numa mobilização inquieta por ainda não ter conseguido encontrar as condições ideais para seu modo
de ser, embora tenha encontrado a terra revelada. Conforme Ciccarone, “Funcionários do Centro de Ajustamen-
to Social da Secretaria Estadual do Trabalho e Promoção Social vigiavam os movimentos do grupo, como consta
do relatório enviado em junho de 1973 à Funai, no qual alegavam falta de recursos financeiros para assistir os
únicos indígenas que ‘surgiam’ no Espírito Santo e que continuavam perambulando em busca de abrigo. [...]
O governo estadual ganhava tempo enquanto Paulo Guarani continuava a articular os contatos com os poderes
públicos no intuito de obter a volta do grupo para Caieiras Velhas. [...] O então prefeito de Guarapari, Hugo
Borges, interessado em explorar a presença indígena como atrativo turístico, ofereceu, com a chegada do verão,
um terreno para o grupo se assentar, estipulando em troca que os Mbyá ‘andariam de tanga para atrair turistas e
participariam do lucro dos ingressos’ [segundo o Jornal do Brasil, 19 ago.1973, 1º Cad.]. O episódio de Guara-
pari tornou-se o estopim para viabilizar o plano de remoção do grupo do Estado, mantendo-o prisioneiro sob a
guarda da Funai na Fazenda Guarani, em Minas Gerais. [...] Os Mbyá se negaram a aceitar qualquer proposta
que não fosse o retorno a Caieiras Velhas e finalmente o poder público oficializava seu veto, alegando tratar-se de
áreas reservadas ao empreendimento de reflorestamento [plantios de eucalipto]” (CICCARONE, 2001, p. 307).
miolo_geografia_UFF.indd 222 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 223
As lutas territoriais conjuntas
As singularidades das lutas territoriais protagonizadas pelos Tupiniquim e
pelos Guarani Mbyá apresentam problematizações a partir dos conflitos entre
seus “mundos de viver”, preexistentes e “r-existentes” (PORTO-GONÇALVES,
2006), e a “pseudoterritorialidade” (Deleuze e Guattari) que se impõe e se re-
produz substituindo os signos da terra-território pelos signos abstratos da racio-
nalidade capitalista. Os Tupiniquim e os Guarani reivindicam a terra como a
possibilidade da experiência territorial, como terra-território,166 uma categoria que
comparece como necessidade política.
Hoje, basicamente, a relação do índio com sua terra é uma relação de um filho
com a mãe. É diferente da relação dos brancos ricos com a terra, de que ela tem
que produzir, gerar riqueza. Nós precisamos da terra para sobreviver. A gente
pretende criar nossos filhos e os filhos dos nossos filhos naquela terra, e morrer
naquela terra, para nós um lar, único. Falou-se inclusive uma vez de levar os ín-
dios para uma outra área, mas esse não é o nosso objetivo. Nós queremos a nossa
terra, queremos viver em cima da nossa terra e, apesar dos contras, temos manti-
do nossa posição. (Jaguaretê, cacique Tupiniquim, entrevista com AND, 2006)167
A trajetória conjunta dos Tupiniquim e dos Guarani no município de Aracruz
tem início a partir das suas lutas territoriais desde seu encontro no Espírito Santo,
e que resultou num emblemático enfrentamento ao capital transnacional, repre-
sentado pela empresa Aracruz Celulose S/A.
Uma empresa daquele porte fala que gera riqueza, mas é tudo para eles e entre
eles. Nunca é dividida para a sociedade. É uma coisa feita só para os grandes “em-
presários”. Como é uma empresa transnacional, o dinheiro vai para o estrangeiro.
Na verdade, eles só exploram o País. Por causa dessa destruição, hoje a gente não
consegue mais sobreviver da natureza, porque, além de transformarem em deserto,
reduziram nosso território que, antes, era imenso. Agora, estamos confinados a
apenas 7.000ha (Jaguaretê, cacique Tupiniquim, entrevista com AND, 2006).168
166 MARACCI, 2008.
167 Tupiniquins e Guaranis do Espírito Santo: para onde vai a Aracruz e o desgoverno. A Nova Democracia,
Ano IV, n. 29, abril de 2006.
168 Idem
miolo_geografia_UFF.indd 223 30/01/17 17:16
224 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Nos povoados das florestas – hoje só tem eucalipto – chegavam pistoleiros em
caminhonetes. Sob ameaça de morte diziam para aqueles moradores que eles
não eram mais os donos dali, que deveriam sair. Eles foram saindo e essas em-
presas devastando, ateando fogo para depois plantar eucalipto, transformando
tudo num deserto verde, sem vida (Werá Djekupé, cacique Guarani Mbyá,
entrevista com AND, 2006).169
A retomada das terras-territórios por estes dois povos assume um caráter de
movimento no sentido contrário à ocidentalização do mundo, quando cons-
troem uma aliança de lutas de grande e prolongado enfrentamento ao capital
transnacional.
Desencadeou-se, assim, um processo de lutas territoriais conjuntas, que se
configuraram em três episódios de ocupações e autodemarcações das terras pre-
tendidas que resultaram em Portarias Declaratórias e demarcações: o primeiro
de 1975 a 1983, o segundo de 1993 a 1998 e o terceiro de 2005 a 2007170. Em
2006, depois da autodemarcação que marca o início da terceira retomada das
terras-territórios, as lideranças que exerciam o papel de tornarem públicas suas
questões assim se manifestaram:
A maior conquista do nosso povo foi a pouca terra que temos hoje, conquista-
da com muita luta. Primeiro, em 1978. Depois, teve a luta de 1998, e tem essa
agora. A gente tem sobrevivido dentro dessa área, nós temos conseguido existir
somente através da luta, e, se não lutar, não consegue sobreviver. [...] A polícia
fala que a gente está afrontando a Justiça, mas na verdade nós estamos apenas
tentando sobreviver, resistir à política de eliminação, do governo e da justiça.
A justiça permanece do lado do poder financeiro. Do ponto de vista político
há uma mudança em relação a nossa causa porque estamos mais organizados.
Esses compromissos terão que ser cumpridos (Jaguaretê, cacique Tupiniquim,
entrevista com AND, 2006).171
169 Idem.
170 Em 2007 o ministro da Justiça, Tarso Genro, assinou a portaria demarcatória dos 11 mil hectares das ter-
ras-territórios reivindicadas pelos Tupiniquim e os Guarani Mbyá (GABINETE DO MINISTRO, POR-
TARIA n. 1.463, de 27 de agosto de 2007). A partir de então os dois povos iniciam uma nova etapa de lutas
para a reconversão das terras de eucalipto em suas terras-territórios.
171 Tupiniquins e Guaranis do Espírito Santo: para onde vai a Aracruz e o desgoverno. A Nova Democracia,
Ano IV, n. 29, abril de 2006.
miolo_geografia_UFF.indd 224 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 225
Os índios têm princípios. Quando os portugueses chegaram, os índios já esta-
vam aqui. Todo o território estava habitado pelo índios. E depois vem a Cons-
tituição Federal, que diz que o índios têm direito sobre a terra. Historicamente
os índios têm direito, e no Espírito Santo têm as sesmarias, assinado por D.
Pedro II, dando direito ao limite de terras que pega de Jacaraipe, na Grande
Vitória, até Regência, foz do rio Doce, no norte do Estado. Infelizmente, todo
esse território indígena foi invadido. Existem ali bairros, cidades, até fabricas,
em cima dessas terras dos índios. Quando os índios viram que na Constituição
Federal existe o direito das terras, começaram a lutar, com a união dos Tupini-
quim e Guarani. Graças a essa luta conjunta, estamos conquistando de volta o
que é dos Tupiniquim e Guarani, e o território que foi estudado é nosso – que
a Aracruz se recusa a devolver, dizendo que tem porque comprou. Essas pesso-
as, de quem ela comprou, tiraram as terras dos índios, invadiram as terras dos
índios, porque a Constituição diz que a terra é nossa (Werá Djekupé, cacique
Guarani Mbyá, entrevista com AND, 2006).172
Os Tupiniquim e os Guarani anunciaram pública e conjuntamente seu pro-
jeto “Nossa Terra, Nossa Liberdade” e foi esse projeto territorial que figurou o
tempo todo nos debates com a Aracruz Celulose e com a sociedade envolvente,
durante o terceiro episódio da luta territorial.
Sabemos que não podemos continuar existindo como povo indígena se não
tivermos liberdade e autonomia e se nossas terras não forem demarcadas, para
que nossos filhos e netos possam ter um futuro seguro. Quinhentos anos atrás
cortaram as árvores que representam os povos e culturas indígenas; hoje, com
nossa luta, voltam a brotar com força as raízes indígenas no Espírito Santo. Por
tudo isso decidimos, por unanimidade, nesta Assembleia Indígena, lutar pela
retomada de nossas terras, hoje ocupadas pela Aracruz Celulose. A luta pela
terra, que é também a luta pela sobrevivência física e cultural dos Tupiniquim
e Guarani, será, daqui para frente, nosso principal objetivo, e não descansare-
mos até conseguirmos recuperar integralmente nossas terras. (Trecho da Nota
Pública da Comissão de Caciques Tupiniquim e Guarani: “Nossa Terra, Nossa
Liberdade”. Aldeia Tupiniquim de Irajá, 28 de fevereiro de 2005).
As expressões como “terra para viver e de liberdade”, por exemplo, foram uti-
lizadas intensamente nos discursos, manifestos e cartas públicas das lutas terri-
172 Idem.
miolo_geografia_UFF.indd 225 30/01/17 17:16
226 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
toriais dos Tupiniquim e dos Guarani Mbyá. Comunicavam a ideia de que terra
é mais que terra (sentido extensão física), mas a própria experiência territorial
enquanto biodiversidade mais cultura e/ou sua possibilidade. Portanto, as terras
a serem retomadas naquele momento não eram quaisquer terras, mas terras-terri-
tórios.173 Percebendo uma correspondência conceitual entre esta noção elaborada
por estes povos e a expressão “mundos de vida” utilizada por Enrique Leff (2004),
Arturo Escobar (2005), Edgardo Lander (2005), Maritza Montero (1998), Por-
to-Gonçalves (2005, 2006), a utilização aqui da expressão “mundos de viver” neste
trabalho guarda a intenção deste diálogo conceitual.
A luta territorial para os Tupiniquim e para os Guarani assume, assim, uma
significação básica, principal, primeira, cada qual na sua singularidade, mas que,
no encontro, orienta suas estratégias de luta conjunta, suas movimentações po-
líticas, sua espacialização política e seu próprio processo de reterritorialização,
articulando os sentidos do território funcional e de poder (autonomia) ao sentido
das suas próprias existências, mesmo nas condições de restrições territoriais em
meio à sociedade envolvente atual.
Ocorrem, portanto, dois processos imbricados nessa luta conjunta: a espa-
cialização, enquanto formas e repercussões da luta territorial (multiescalar), e a
reterritorialização no campo identitário.
O processo de espacialização não se refere à apropriação espacial propriamente
dita (concreta ou abstrata) dos espaços articulados pelos Tupiniquim e pelos Gua-
rani, visto que estes não se apropriam dos espaços onde se inserem, mas refere-se
à socialização político-epistêmica no processo da luta territorial, nas suas diversas
formas, meios, linguagens e repercussões. Trata-se, portanto, das suas articulações
políticas, por meio das ações as mais diversas: inserções nos espaços da cidade e
seu entorno (marchas, atos públicos, bloqueios de estradas); midiático (articula-
ções e elaborações midiáticas próprias, mídias favoráveis ou contrárias); promo-
ção e participação por convite em eventos de temáticas socioambiental e cultural;
inserção em territórios acadêmicos por convite (palestras, eventos, estudos etc.);
alianças com outros movimentos populares do campo e da cidade, sindicatos,
organizações não governamentais do Brasil e do exterior e partidos políticos (par-
173 Expressões dos Tupiniquim e dos Guarani em suas declarações públicas “terra para viver e de liberdade”,
“nossa terra, nossa liberdade”; “nossa terra, terra que é a nossa mãe e sobre ela construímos nossa dignidade
e nossa identidade”; “a luta pela terra, que é também a luta pela sobrevivência física e cultural dos Tupini-
quim e Guarani”; “a relação que temos com a terra é espiritual, de mãe, tem toda uma vida aqui”.
miolo_geografia_UFF.indd 226 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 227
cerias de luta em rede); viagens por diversos estados brasileiros e países do mundo,
por convites; articulações de diversos órgãos e instâncias do Poder Público; ocu-
pações de estruturas físicas do complexo celulósico da empresa Aracruz Celulose
(territórios indígenas a priori), construindo visibilidades políticas; notas e cartas
públicas; festas, rituais abertos etc. Adentram, assim, outros espaços e territórios,
construindo, explicitando e provocando encontros de perspectivas com outros
movimentos sociais e outros territórios numa estratégica produção mútua da crí-
tica ao poder hegemônico que a todos oprime.
Assim, o movimento indígena no Espírito Santo, para atingir seus objetivos,
espacializa a luta enquanto se reterritorializa identitariamente. Nesse processo de
reterritorialização conjunta, os Tupiniquim e os Guarani carregam consigo e ao
mesmo tempo re-significam e anunciam/socializam conjuntamente suas territo-
rialidades de matriz indígena, recuperadas (o preexistente como uma fonte de di-
reitos), re-significadas, re-inventadas, articulando conjuntamente temporalidades
de suas vivências específicas, perspectivas e ancestralidades no percurso dessa luta.
Ou seja, “articular historicamente o passado não significa conhecê-lo ‘como ele de
fato foi’. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no
momento de um perigo”. (W. Benjamin, Sobre o Conceito de História).
Território, limites e fronteiras em questão
Considerando os processos de invasões e restrições territoriais já experimen-
tados e atuais, fundamentados na instituição da propriedade privada, a reivindi-
cação de território indígena com limites claros, mapeados/cartografados, demar-
cados e homologados oficialmente é o que cabe aos Tupiniquim e aos Guarani (o
mesmo vale para outros grupos/etnias/povos que fazem uso comunal das condi-
ções naturais de existência), como forma de garantir minimamente sua existência
comunitária e suas dinâmicas territoriais específicas. Isso acaba configurando suas
experiências, a partir das pressões e tensões territoriais exercidas pelo modelo de
desenvolvimento, baseado na concentração fundiária e na monocultura no entor-
no de suas terras-territórios.
Observemos as condições que atuam sobre estes povos nas suas reinvenções
territoriais (espitêmico-material), no caso específico das Terras Indígenas (TIs).
Segundo a Funai,
miolo_geografia_UFF.indd 227 30/01/17 17:16
228 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Terra Indígena (TI) é uma porção do território nacional, de propriedade da
União, habitada por um ou mais povos indígenas, por ele(s) utilizada para suas
atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural, se-
gundo seus usos, costumes e tradições. Trata-se de um tipo específico de posse,
de natureza originária e coletiva, que não se confunde com o conceito civilista
de propriedade privada. (FUNAI, 2014)
Ainda segundo a Funai:
De acordo com o Decreto n. 1.775/96, é responsabilidade da Funai realizar os
estudos multidisciplinares – de natureza etno-histórica, ambiental, cartográfica e
fundiária – necessários à identificação dos limites das terras indígenas, assegurando
a participação do poder público e o direito ao contraditório dos interessados, nos
termos das normativas vigentes; demarcar fisicamente as terras indígenas, por meio
da materialização dos limites declarados pelo ministro da Justiça, com a abertura de
picadas e colocação de marcos e placas indicativas; pagar as indenizações consigna-
das no § 6º do Art. 231 aos ocupantes considerados de boa-fé das terras indígenas;
providenciar o registro da terra indígena na Secretaria de Patrimônio da União e no
Cartório de Registro de Imóveis da comarca onde ela se localiza, após expedição de
Decreto da Presidência da República. [...] (FUNAI, 2014)
As delimitações das Terras Indígenas estão, portanto, sob a égide do Ministério
da Justiça e, parte da autonomia destas comunidades em definir seus parâmetros
do bem viver, está submetida a estas formas de regulação. Trata-se, portanto, de
um conflito (que abriga diversos outros conflitos) originado no início da coloni-
zação/“descoberta” e que, diante da configuração societária produzida no espaço
denominado brasileiro, tende a permanecer.
A regularização das “Terras Indígenas” (TIs) pelo Estado, como no caso dos
Tupiniquim e dos Guarani Mbyá no Espírito Santo, no entanto, mesmo tendo
um caráter de aproximação do significado de território indígena, e que orientam
os estudos de identificação pelos GTs da Funai, trata-se de um processo de res-
trição territorial porque impõe limites e fixação. Os Guarani e os Tupiniquim se
submeteram a tais restrições atuais porque, pelas razões históricas de profundas
restrições territoriais vividas sob os imperativos da colonização, a TI é a possibili-
dade mínima da experiência territorial, porque em condições restritas.
miolo_geografia_UFF.indd 228 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 229
Consideremos as distinções entre Terra Indígena (TI), milimetricamente defi-
nida, e território indígena. Os limites da TI são traçados salvaguardando fronteiras
com a propriedade privada, adequando e conformando culturas singulares e seus
territórios a um modelo exógeno a essas culturas.
Ronaldo J. S. Lobão (2006) faz uma pertinente observação sobre o modelo de
TIs sob a influência do que ele chama de uma “ideologia territorial”:
Em uma perspectiva experiencial, no território brasileiro não existem espaços
territoriais que não façam parte da história de vida de algum grupo social. Por
outro lado, vários grupos não vivem conformados apenas em um lugar, como
os Guarani Mbyiá [sic] (SANTOS, 2005). Neste sentido, o modelo de Terras
Indígenas também estaria sob a influência de uma ideologia territorial que não
seria familiar, em alguns casos, aos próprios índios. [...] Os grupos nativos, em
qualquer situação, encontram-se subordinados ao modelo societário euro-a-
mericano, o qual define a “indigenidade” e controla o processo de resolução
dos conflitos. (LOBÃO, 2006, p. 226 e 246)
Se considerarmos, como Eduardo Viveiros de Castro e Anthony Seeger, que
território indígena tem “dimensões sociopolítico-cosmológicas mais amplas”, di-
ferente de “terra-meio-de-produção” (CASTRO; SEEGER, 1979, p. 104), nos é
possível dizer que o processo de regularização na forma da TI tenta regularizar o
conflito entre lógicas territoriais distintas, ou tensões territoriais, estabelecendo
limites e fixações aos povos indígenas transformando território em terra. Maria
Inês Ladeira (1996) observa que:
As situações de contato a partir da conquista rompem antigas alianças e hosti-
lidades e, em razão da necessidade de confinar as comunidades indígenas para
promover sua própria ocupação expansionista, a sociedade nacional produz a
categoria de “terra indígena”, associando-a ao significado mais amplo de “territó-
rio”, enquanto um espaço suficiente para o desenvolvimento de todas as relações
e vivências definidas pelas tradições e cosmologias. (LADEIRA, 1996, p. 784)
Considerando as singularidades dos Guarani Mbyá, por exemplo, sua territo-
rialidade envolve dinâmicas sociais e políticas com base em preceitos místicos e
relações de parentesco que implicam permanente mobilidade (o guatá), de modo
que o território Guarani, particularmente Mbyá, supera os limites físicos das al-
miolo_geografia_UFF.indd 229 30/01/17 17:16
230 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
deias e trilhas e está associado a uma noção própria de mundo (LADEIRA, 1996,
p. 784) que conseguiram preservar apesar das intensas restrições territoriais vivi-
das, conforme vimos.
Para os Tupiniquim, mesmo considerando que as restrições territoriais vividas
desde as invasões europeias lhes impuseram perdas culturais significativas, seu
complexo processo de “re-existência” se faz por meio de um exercício territorial,
que mantém dinâmicas sociais, políticas e culturais baseadas principalmente em
práticas comunitárias, de reciprocidade e religiosidade, mesmo quando cristã,
como é o caso dos Tupiniquim.
Atingidos pela colonização e pelo avanço do capitalismo, os Tupiniquim e os
Guarani Mbyá – como todos os povos indígenas que habitaram e habitam essas
terras que aprendemos a chamar América – se veem forçados a viver em espaços
delimitados, territórios restritos a parcelas diminutas de terras, salvaguardados em
meio ao intenso processo de inferiorização nas relações interétnicas no seu entor-
no, fundados e atualizados pelo sistema-mundo-moderno-colonial.
A racionalidade hegemônica que impõe processos de apropriação privada e
de concentração da terra, depredação dos bens naturais, eliminação das “culturas
baseadas no lugar” e que sempre pressionou os povos indígenas, vem sendo agora
pressionada por eles. A demanda por terras-territórios, autonomia, recuperação
ambiental, assistência com adequação étnica à saúde, soberania alimentar e do sa-
ber, educação diferenciada, dignidade, integridade da vida etc. aumenta conside-
ravelmente. Isso porque os povos indígenas adquiriram, mais recentemente, uma
significativa capacidade de organização política. No entanto, vulneráveis frente
à violência dos grandes proprietários de terras, do próprio Estado e de todas as
forças locais, regionais e nacionais contrárias ao usufruto territorial indígena, estes
povos permanecem em estado de apreensão e insegurança diante dos avanços das
apropriações capitalistas, como temos visto cotidianamente no atual momento
brasileiro, a exemplo de Belo Monte.
Contudo, as TIs reivindicadas, demandas dirigidas ao Estado, são demarcações
dos limites físicos que ressignificam suas experiências territoriais a partir de uma
redefinição das fronteiras entre seus mundos de viver e a sociedade envolvente.
Ainda limites e fronteiras
Considerando o que foi discutido acima, em se tratando de populações indí-
genas, nos deparamos com conflitualidades que envolvem fronteirizações, como
miolo_geografia_UFF.indd 230 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 231
as que foram criadas por limites políticos estabelecidos pela territorialização refe-
renciada nos Estados-nação e suas unidades federativas, como no caso brasileiro.
Esse conflito e debates decorrentes nos remetem às problematizações que estas lutas
específicas dirigem às configurações societárias do mundo “não indígena”. Os direi-
tos territoriais dos indígenas que vivem no ES são questionados pela transnacional
Aracruz Celulose, dentre outras estratégias discursivas, a partir destas referências
(também territoriais) que se sobrepõem aos muitos territórios subalternizados.
Os Tupiniquim, para a empresa, não têm relações imemoriais com as terras-
-territórios reivindicadas, pois, segundos seus antropólogos e demais cientistas
empresariais, originam-se nas terras do estado da Bahia e quando chegaram ao
ES já o fizeram em condições de miscigenação e assimilação cultural colonial,
portanto, não seriam mais Tupiniquim, sequer indígenas.
Já no século XIX, embora não abandonando a resistência ao projeto cristão-o-
cidental, os Tupiniquim perderam aspectos fundamentais de sua cultura, incor-
porando cotidianamente aspectos da cultura do colonizador, processo esse que
se deu por “múltiplas estratégias de inferiorização” (SOUSA SANTOS, 1999):
guerra, violências físicas, genocídio, epistemicídio, catequese/missionação, escra-
vidão, racismo, desqualificação, assimilacionismo e outros. No entanto, mesmo
sob os imperativos da dominação colonizadora, os Tupiniquim se reivindicam
enquanto tal e continuam enfrentando, devido a isso, estratégias de inferiorização
que agora inclui a própria assimilação da cultura colonizadora como atributo
de sua inferiorização (ou do seu aprofundamento) e de, portanto, ausência de
direitos territoriais. Tal estratégia foi demasiadamente utilizada pela empresa Ara-
cruz Celulose contra os direitos dos Tupiniquim, quando os acusa de não serem
“índios” por não apresentarem “sinais diacríticos” próprios. Boaventura de Sousa
Santos percebe este aprofundamento da inferioridade produzida e diz que,
[...] ao contrário do que pode parecer, a dimensão conceptual precede a empí-
rica: a ideia que se tem do que se descobre comanda o ato da descoberta e o que
se lhe segue. O que há de específico na dimensão conceptual da descoberta im-
perial é a ideia da inferioridade do outro. A descoberta não se limita a assentar
nessa inferioridade, legitima-a e aprofunda-a. (SOUSA SANTOS, 1999, s/n)
Nos embates dos Tupiniquim e dos Guarani Mbyá com a empresa Aracruz
Celulose através da sua rede de interesses incluindo a mídia e cientistas empresa-
miolo_geografia_UFF.indd 231 30/01/17 17:16
232 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
riais (antropólogos, sociólogos, geógrafos, advogados, engenheiros...), a questão
que envolve o conceito de território emerge articulada com a problematização
acerca das fronteiras e dos limites.
As territorialidades e enunciações dos indígenas em luta contrapõem fronteiras es-
tabelecidas pelos limites políticos impostos desde a escala Estado-nação. Tais frontei-
ras e limites e a distinção entre terra e território são exteriores aos seus mundos de viver.
Dentre os argumentos empresariais que compõem a desconstrução dos direi-
tos territoriais dos indígenas que vivem no Espírito Santo, figuram na centralida-
de do conflito a estrangeirização dos Guarani Mbyá e o não reconhecimento da
identidade Tupiniquim a partir da sua própria “des-re-territorialização”, utilizan-
do aqui o conceito discutido por Haesbaert (é claro, este conceito não consta no
constructo discursivo da empresa).
As terras reivindicadas atualmente pelos Tupiniquim não seriam imemoriais.174
A construção discursiva da empresa parte do pressuposto de que território se res-
tringe à dimensão física e de extensão, referenciado na terra com limites matema-
ticamente estabelecidos, cuja fixação figuraria como atributo indispensável de le-
gitimidade dos direitos identitários. Essa perspectiva, além de ser atemporal, pois
desconsidera o passivo de desterritorializações vividas pelos povos indígenas desde
1500, reproduz a própria noção da propriedade privada com limites e fixação – afi-
nal, o lócus desta retórica é o da propriedade privada da terra-mercadoria e nessa
lógica não cabe a noção de território como sinônimo de biodiversidade mais cultura.
Quando a empresa afirma em sua contestação jurídica que os Tupiniquim
já estão totalmente “aculturados” ou “integrados”, sugerindo que estes não são
mais “índios”, ela trabalha com a negação dos direitos territoriais deste povo pelo
argumento da ausência de “sinais diacríticos” da etnicidade, fundamentado em
critérios de identificação estereotipados e fixados nos primeiros tempos da coloni-
174 Em 19 de junho de 2006, a empresa Aracruz Celulose entregou seu relatório de contestação ao laudo
da Funai, com 15 mil páginas, em 14 volumes e petição com 400 páginas. A empresa disponibilizou o
documento na íntegra, bem como sínteses da sua contestação em seu site e em alguns outros veículos de co-
municação (<www.aracruz.com.br>; <www.celuloseonline.com.br>; <www.alertaemrede.com.br>, <www.
acionistas.com.br>; <www.cresses.org.br> e outros; Aracruz questiona identidade dos tupiniquins para ficar
com terras. Repórter Brasil 2/5/2007). A síntese da sua contestação foi publicada em formato de cartilhas
impressas e distribuídas nas escolas da rede pública e privada e também em seu site. Segundo a empresa, foi
contratado um grupo multidisciplinar formada por cerca de 15 profissionais, incluindo historiador, antro-
pólogo, geógrafo e cartógrafo, com pesquisas em arquivos públicos, bibliotecas, jornais e cartórios, além de
realizar entrevistas com antigos moradores da região. A empresa não informou os nomes dos profissionais
do grupo multidisciplinar quando solicitada.
miolo_geografia_UFF.indd 232 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 233
zação, construindo, assim, a deslegitimação da luta deste povo. Como nos lembra
Boaventura de Sousa Santos, nos tempos da descoberta imperial “o selvagem é
a diferença incapaz de se constituir em alteridade. Não é o outro porque não é
sequer plenamente humano” (SOUSA SANTOS, 1999).
A afirmação da diferença pela distinção étnica, agora oportuna, é exigida pela
empresa como condição de reconhecimento dos direitos territoriais destes povos
indígenas, questionando inclusive os estudos da Funai e seus critérios de identi-
ficação étnica. Se seguirmos a razão empresarial, o direito à terra-território pres-
supõe a explicitação de “sinais diacríticos” de etnicidade a partir dos critérios oci-
dentais de distinção. Eduardo Viveiros de Castro tem uma oportuna observação
sobre esse processo de identificação étnica:
A autenticidade é uma autêntica invenção da metafísica ocidental, ou mesmo
mais que isso – ela é seu fundamento, entenda-se, é o conceito mesmo de fun-
damento, conceito arquimetafísico. Só o fundamento é completamente autên-
tico; só o autêntico pode ser completamente fundamento. Pois o Autêntico é o
avatar do Ser, uma das máscaras utilizada pelo Ser no exercício de suas funções
monárquicas dentro da ontoteoantropologia dos brancos. Que diabo teriam os
índios a ver com isso? (CASTRO, 2006, s/n)175
A exigência do reconhecimento do direito territorial indígena a partir de uma
certa comprovação da imemorialidade e dos “sinais diacríticos” que apresentem
distinções que se localizam nos tempos da “descoberta”, além de impor a ideia da
cultura estática, ainda retira de questão o passivo de violência étnico-epistêmica.
No ambiente das contraposições argumentativas aos direitos territoriais indíge-
nas, “não [se] leva em consideração o gradiente de poder dos grupos em confron-
to, no passado e no presente”, pois “colocar o poder ocidental para as conquistas
em pé de igualdade com as demandas étnicas por reconhecimento é ou ignorar
ou minimizar a violência da expansão ocidental” (RAMOS, 2003, p. 397, citado
por LOBÃO, 2006, p. 246). Se o índio é “integrado” remete-se a ele o pagamento
do preço dessa integração. A questão ser ou não ser índio é deslocada como uma
questão do índio.
175 CASTRO, E. Viveiros de..No Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não é. Carta de Eduardo Viveiros de
Castro em resposta à revista Veja em agosto de 2006. Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/
brasil-todo-mundo-indio-quem-nao
miolo_geografia_UFF.indd 233 30/01/17 17:16
234 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Os Guarani Mbyá são paraguaios, são estrangeiros!
Compondo suas estratégias de inferiorização dos indígenas, além da afirmação
da empresa de que as comunidades Tupiniquim não são indígenas, que sequer são
originárias do Espírito Santo, ela também afirma que os Guarani são estrangeiros
paraguaios.
Neste mesmo sentido da negação dos direitos territoriais indígenas, a mobi-
lidade que constitui a territorialidade Guarani Mbyá é fator de contestação e/
ou negação de direitos a partir do argumento referenciado na noção de território
nacional. Sendo assim, a razão empresarial, no caso transnacional, ironicamente
acusa os Guarani de “estrangeiros”. Como percebe Maria Inês Ladeira:
Apesar das fontes históricas considerarem a costa atlântica (parakupe = costas
do mar) como território ocupado pelos Guarani já na época da conquista, a
presença guarani no litoral é insistentemente tratada como recente, argumento
apoiado no fato de as aldeias abrigarem pessoas ou famílias Guarani proceden-
tes de outras regiões. Assim, os Guarani são considerados como estrangeiros
não pelo fato de serem Guarani (e por pertencerem a outra “nação”), mas com
o fim de deslocá-los de sua base terrestre onde, de acordo com as circunstân-
cias históricas e políticas, sempre incidirão interesses particulares da sociedade
nacional (LADEIRA, 2008, p. 103).
Especificidades e singularidades a partir da formação socioespacial
brasileira e o percurso transescalar de luta territorial dos Tupiniquim
e dos Guarani Mbyá: “ultrapassando as raízes coloniais e lineares da
história e alargando a compreensão de mundo”176
A proposta para este seminário, a da construção um pensamento descolonial
“a partir dos diferentes lugares de enunciação que constituem as ‘epistemologias
do sul’, mantendo as especificidades de nosso lugar de enunciação” ou “enraizado
nas especificidades e singularidades da formação socioespacial brasileira”, é ins-
tigante quando observamos que os Tupiniquim e os Guarani Mbyá, na luta pela
retomada dos seus territórios no Espírito Santo, articularam espaços transfron-
teirísticos na construção da sua espacialidade política da luta territorial, do local
176 Frase extraída da Carta Convite para este 1º Seminário “Geografia e Giro Descolonial: experiências, pensa-
mentos e horizontes de renovação do pensamento crítico”. NETAJ – PPGEO/UFF e NEGRA-FFP-UERJ,
2014.
miolo_geografia_UFF.indd 234 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 235
ao global, denunciando uma história de violações dos seus direitos territoriais
que se deram na especificidade da formação socioespacial brasileira (conforme
já exposto) desde o processo de colonização europeia destas terras até hoje (um
continuum de inferiorizações das populações indígenas).
Ao mesmo tempo estes povos enunciaram suas problematizações do mundo e
para o mundo, e do futuro, a partir das suas territorialidades específicas, Tupiniquim
e Guarani, de matriz indígena portanto. Dirigiram-se à sociedade envolvente, nesta
construção transescalar, com o objetivo de construção política da sua luta específica,
qual seja a de retomar parte das suas terras-territórios invadidas pela empresa Ara-
cruz Celulose no ES (18.027 hectares). Isso quer dizer que suas enunciações não se
constituíram a partir da intencionalidade de um projeto de mundo para o mundo,
mas de projetos de seus mundos de viver na escala das suas experiências territoriais
e que foram colocados em diversos lugares no mundo. Transitaram escalas diversas,
do local ao global, porque a colonialidade atual que os expropria não se limita ao
Estado-nação. A colonialidade atual que os expropria é transescalar, transnacional.
Ou seja, o empreendimento celulósico sobre suas terras-territórios envolve uma
rede global de transações de mercado e produção: da matéria-prima celulose produ-
zida no ES à fabricação e distribuição mercadológica de papel nos diversos países do
mundo sob o comando de capitais transnacionais no atual contexto de globalização.
Esta característica específica do conflito, por outro lado, possibilitou diálogos com
e para o mundo, quer dizer, os indígenas e suas questões, e não “a questão indígena”
(conforme sempre problematiza o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro), apre-
sentaram-se (ou representaram) enquanto sinais de alerta e de possibilidades para
um mundo em crise civilizatória e ambiental. As questões específicas dos Tupini-
quim e dos Guarani revelaram-se questões que a todos dizem respeito.
O que me interessa não é a “questão nacional”, ou qualquer “teoria do Brasil”.
O que me interessa não é, tampouco, a “questão indígena”, nome do problema
que a existência passada, presente e futura dos povos indígenas significa para
a classe e a etnia dominantes no País. O que me interessa são as questões indí-
genas, no plural – entenda-se, as questões que as culturas indígenas se põem
elas próprias e que as constituem como culturas distintas da cultura dominante
(Castro em entrevista com Flavio Moura, s/d).177
177 UOL. LIVROS/LANÇAMENTO – Flavio Moura entrevista Viveiros de Castro “Os índios no plural”.
Disponível em: http://p.php.uol.com.br/tropico/html/textos/1417,1.shl
miolo_geografia_UFF.indd 235 30/01/17 17:16
236 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Além do confronto epistêmico que as lutas indígenas significam sempre, o
caso das lutas dos indígenas no ES acrescentam aspectos de reconversão dos danos
socioambientais em terras de viver (conforme enunciam), em territórios de biodi-
versidade mais cultura portanto. Quando conquistaram a demarcação das Terras
Indígenas (TIs) em 2007, lhes foram repassados 11 mil hectares devastados pela
monocultura de eucalipto da qual foi retirada no processo de homologação da
Demarcação definitiva. Tal situação teve implicações de uma reconstrução terri-
torial difícil, e para os olhos dos lugares do mundo que se envolveram com suas
lutas esta perspectiva de reconversão figurou como dos mais importantes aspectos
nesta luta, pelo forte caráter ambiental.
Encontros de perspectivas acontecem nesse percurso da construção da luta em
rede pelos Tupiniquim e os Guarani, ou seja, espaços e territórios outros, não
indígenas, abrem-se para o diálogo, solidariedade e parcerias com estes dois po-
vos, inclusive pelo envolvimento direto de algumas organizações internacionais
com ações a partir dos seus próprios espaços-territórios, inclusive fora do Brasil,
incluindo ações simultâneas às dos Tupiniquim e dos Guarani Mbyá. Citando
exemplos: a Ong alemã Robin Wood e ativistas alemães fecharam entradas da
multinacional Procter & Gamble, na Alemanha em maio de 2006. A Robin Wood
apresentou pesquisas onde mostraram que a celulose da Aracruz é utilizada para os
lenços de papel Tempo, para as marcas de papel sanitária Charmin e Bess, produ-
zidas pela multinacional Procter & Gamble (P&G). Em outubro de 2006, a Ong
Robin Wood realizou novamente protestos em frente à fábrica da Procter & Gam-
ble (P&G) Deutschland, em Neuss, na Renânia do Norte-Vestfália. Foi uma ação
simultânea à ação dos Tupiniquim e dos Guarani, após a contestação do relatório
da Funai pela empresa Aracruz Celulose, quando retomaram o corte e a queima
de eucalipto para pressionar o Ministério da Justiça a decidir sobre a demarcação
das terras indígenas. Outro exemplo foi em maio de 2006, quando trinta empresas
multinacionais foram julgadas em um tribunal em Viena/Áustria, organizado por
movimentos sociais. A Aracruz Celulose foi julgada nesse Tribunal dos Povos com
o testemunho de indígenas Guarani e Tupiniquim e uma camponesa do MST
(Movimento Sem Terra) e um ativista da Rede Alerta Contra o Deserto Verde. O
episódio da ocupação do Portocel (da empresa) pelos Tupiniquim e os Guarani foi
acompanhado por ativistas internacionais que realizaram manifestações simultâne-
as em seus países, a exemplo das manifestações nos EUA e na Alemanha. No Brasil,
durante a ocupação do Portocel, estudantes e membros de movimentos sociais do
miolo_geografia_UFF.indd 236 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 237
Espírito Santo realizaram em Vitória manifestações de apoio aos Tupiniquim e aos
Guarani ocupando o palácio do governo do estado. E tantas mais ações... Assim,
jornais e organizações internacionais acompanharam cotidianamente as ações de
luta dos Tupiniquim e dos Guarani, garantindo a repercussão fora do Brasil cons-
tituindo-se em fator de grande importância, em termos de pressão social sobre o
governo brasileiro e sobre a empresa Aracruz Celulose.
Percebe-se aí um entrelaçamento escalar temporal e espacial que formou este
movimento indígena em rede. As lutas destes indígenas gestadas nas experiências
vividas no Espírito Santo, especificamente no embate com a empresa transnacio-
nal Aracruz Celulose, colocam em evidência o modo e as relações de produção (o
capitalismo propriamente dito) e suas diversas estratégias de poder que se pretende
hegemônico na escala mundo, que padroniza, pela mesma racionalidade, danos
sociais e ambientais ao mesmo tempo em que opera nas especificidades locais.
Inevitável e contraditoriamente, o modo e as relações de produção problematiza-
dos neste conflito local estabelecem entre distintos povos subalternizados e demais
populações sensibilizadas encontros de perspectivas no sentido da superação desta
ordem/desordem que se impõe há alguns séculos no mundo. E assim se constituiu
a luta em rede, a Rede Alerta Contra o Deserto Verde no Brasil e fora dele.
Portanto, o projeto “terra para viver e liberdade” enunciado pelos Tupini-
quim e os Guarani Mbyá na sua especificidade, encontrou receptividade nos
diversos lugares e/ou territórios no Brasil e noutras partes do mundo ocidental
que eles percorreram.
É, pois, importante reafirmar o contexto mundial de crise ambiental e
civilizatória (inter-relacionadas), experienciadas pelas sociedades nacionais,
sobre o qual se inscreveram as lutas dos Tupiniquim e dos Guarani Mbyá. Suas
narrativas territoriais (biodiversidade mais cultura) de matriz indígena são sig-
nificativas neste contexto, constituindo, assim, os seus enunciados, em sinais de
advertência (ou de alerta).
Repetindo para dizer mais, as lutas indígenas, que se encontram com as
demais lutas que formaram a Rede Alerta Contra o Deserto Verde (ou simples-
mente Rede Alerta) no ES, BA, RS, MG e RJ, explicitaram um amplo espectro
de questões que fundam e compõem os conflitos socioambientais no Espírito
Santo e que estabelecem relações de sentido com as questões e problematizações
vividas e construídas pelas diversas populações “não indígenas” do Brasil e do
mundo ocidental.
miolo_geografia_UFF.indd 237 30/01/17 17:16
238 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
A gente entende que, como nós fomos expulsos das nossas terras, muitos não
índios como os camponeses pobres também foram expulsos de suas terras. É
uma situação semelhante à nossa a dessa classe, e nós temos trabalhado junto
com eles, temos conversado, trocado experiências. E eles têm nos apoiado, em
várias ações, inclusive para demarcar e construir as aldeias. A gente sente muito
as realidades próximas. A gente se identifica muito com eles e eles com a gente.
Estamos nos unindo para poder vencer essa política, em que só os mais ricos
têm direitos (Jaguaretê, cacique Tupiniquim, entrevista com AND, 2006).178
Os conflitos socioambientais que conformam as lutas territoriais em rede no
ES e demais estados brasileiros explicitam as singularidades destes lutadores so-
ciais, os seus lugares de enunciações e, nestas enunciações “geo-históricas” (em-
prestando o termo de MIGNOLO, 2003), estão também as especificidades e
singularidades da formação socioespacial brasileira. Ou seja, suas trajetórias ter-
ritoriais desde as invasões europeias e as “múltiplas estratégias de inferiorização”
(SOUSA SANTOS, 1999) vividas desde então, sendo a guerra, violência física,
genocídio, epistemicídio, missionação, escravidão, racismo, assimilação, isto é,
“desindianização” (Viveiros de Castro),179 des-re-territorializações por aldeamen-
tos forçados, e tantas mais desterritorializações, dão-se sob relações sociais e de
poder que, mesmo conformadas sob os imperativos coloniais desde sempre, ou
mesmo conformadas pelas (re)articulações de poder internacionais contempo-
râneas, constituem-se, estas experiências, a partir dos contextos produzidos nas
especificidades e singularidades da formação socioespacial brasileira desde seu iní-
cio. Isso quer dizer que os dramas territoriais destas e de todas as demais popula-
ções indígenas e tradicionais no Brasil são constituídos a partir dos choques entre
suas racionalidades específicas e a racionalidade que conformou e conforma, sob
os imperativos da moderno-colonialidade, o modo específico de como se desen-
volveu a formação socioespacial brasileira.
Alargando a compreensão de mundo...
O referido encontro de perspectivas, fortalecido pelo atual contexto mundial
de crise ambiental e civilizatória, nos permite atribuir a essa luta territorial espe-
178 Tupiniquins e Guaranis do Espírito Santo: para onde vai a Aracruz e o desgoverno. A Nova Democracia,
Ano IV, n. 29, abril de 2006.
179 Revista Cult; entrevista com Viveiros de Castro: “Antropologia Renovada”, 2010.
miolo_geografia_UFF.indd 238 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 239
cífica um caráter instituinte importante, considerando a dimensão societária. Faz
muito sentido o que Carlos Walter Porto-Gonçalves diz:
São populações que geralmente foram desqualificadas e que agora vêm ao debate
político oferecendo reflexões, na minha opinião, da maior importância, não para
si próprias, mas para a humanidade como um todo. E eu penso que isso se deva
ao fato da gente estar nesse momento, exatamente, no debate, por exemplo,
implicado na questão ambiental. Exatamente em um debate onde eu considero
que o que está em curso é exatamente um debate em que a humanidade tenta se
reapropriar socialmente da natureza. (PORTO-GONÇALVES, 2011)180
Podemos pensar que a receptividade social que a luta dos Tupiniquim e dos
Guarani conquistaram nas diversas partes do mundo pode significar sinalizações
de perspectivas em que o antigo, o ancestral, os tradicionais mundos de viver,
ressignificados, apresentam-se num contexto de construção de novas possibili-
dades, de novas perspectivas de um outro mundo possível onde caibam diversos
mundos. Felizmente os indígenas se fizeram mais visíveis nas últimas décadas.
Essa visibilidade, embora paradoxalmente os coloque em situação de vulnerabi-
lidade, possibilita à sociedade envolvente identificar nas suas cosmologias fontes
importantes de reflexões sobre o mundo em crise e, o mais importante, sobre
possibilidades de sua superação.
Esta reflexão encontra correspondência com o que Arturo Escobar diz já em
1997, quando ele percebe que “as culturas baseadas no lugar”, conforme ele no-
meia, “estabelecem parâmetros alternativos para pensar a variedade de temas, des-
de a conservação da biodiversidade até a globalização” e ainda, segundo o autor,
“o que é mais importante destes modelos do ponto de vista do lugar, é que se
poderia afirmar que constituem um conjunto de significados-uso”, mesmo exis-
tindo “em contextos de poder que incluem cada vez mais as forças transnacionais”
(ESCOBAR, 1997, citado por ESCOBAR, 2005).
Considerando tais parâmetros alternativos estabelecidos pelo “conjunto de
significados-uso” apontados por Escobar, percebe-se nestas lutas indígenas e nas
das demais populações tradicionais que se confrontam com grupos empresariais e
o próprio Estado, que o território aparece figurando na centralidade. E aqui ocor-
180 Carlos Walter Porto-Gonçalves, 25/7/2011; MCP Entrevista. Disponível em: http://www.mcpbrasil.org.
br/o-mcp/item/107-entrevista-com-carlos-walter-porto-gon%C3%A1lves.
miolo_geografia_UFF.indd 239 30/01/17 17:16
240 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
re mais um encontro com Porto-Gonçalves, especialmente no seu escrito sobre
“o espírito de Cochabamba – a reapropriação social da natureza”, referindo-se aos
afrocolombianos do Pacífico Sul:
Entre os afrocolombianos do Pacífico Sul se afirma abertamente que territó-
rio é “cultura mais biodiversidade” e, assim, demonstram que estão antenados
com o debate ambientalista. Todavia, emprestam uma dimensão teórico-polí-
tica distinta do ambientalismo do Primeiro Mundo ao se confrontarem com
grupos empresariais que querem expropriá-los para plantar palma, soja e ou-
tras commodities. (PORTO-GONÇALVES, 2011)
Ou ainda quando diz que:
[...] o melhor exemplo das lutas dessas populações afrodescendentes que, à se-
melhança do que fizeram os seringueiros brasileiros, também souberam capturar
um dos vetores da ordem global, o ecológico, e ressignificá-lo, aqui, afirmando
que o território é igual a biodiversidade mais cultura, como explicitamente for-
mularam [Escobar e Grueso]. (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 170)
E também quando ele percebe que:
São novos territórios epistêmicos que estão tendo que ser reinventados junta-
mente com os novos territórios de existência material, enfim, são novas formas
de significar nosso estar-no-mundo, de grafar a terra, de inventar novas territo-
rialidades, enfim, de geo-grafar. (PORTO-GONÇALVES, 2002, p. 10)
Tais reinvenções territoriais (epistêmicas e de existência material) no caso dos
povos indígenas (mas não só) abrigam um sentido importante para a humani-
dade se considerarmos as perspectivas nada animadoras do processo mundial de
autodestruição: estes povos, por suas re-existências até hoje e suas reinvenções
territoriais comprovam possibilidades de um viver sob outros parâmetros, funda-
mentalmente no que se refere às relações sociedade-natureza.
Esta percepção, atualmente um pouco mais ampliada, já se apresentava através
de várias vozes, como, por exemplo, a do escritor e ensaísta francês que Eduardo
miolo_geografia_UFF.indd 240 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 241
Viveiros de Castro181 nos possibilitou acessar, por citação. Refere-se a um inte-
ressante trecho escrito por Jean-Marie Gustave Le Clézio em 1971. Viveiros de
Castro interpreta que o que Le Clézio faz nestas palavras é “conectar diretamente
a sobrevivência de nós todos com o encontro com o mundo indígena, como
sendo algo que nos leva para o futuro e não para o passado. É a ideia de que o
índio é o nosso futuro e não apenas o nosso passado como ele é tradicionalmente
concebido”. Vejamos o trecho citado de Le Clézio:
O encontro com o mundo índio não é hoje um luxo. Tornou-se uma necessi-
dade para quem quer compreender o que se passa no mundo moderno. Não
basta porém compreender. Trata-se de tentar ir até o fim de todas as galerias
obscuras, de procurar abrir algumas portas. Quer dizer, no fundo, trata-se de
tentar sobreviver. (LE CLÉZIO, 1971)182
Considerações finais
A presença indígena com seus mundos de viver inscreve no espaço e no tempo
racionalidades que se distinguem profundamente do projeto colonial de domina-
ção política, cultural e econômica nas suas mais variadas formas de exercício até
os dias atuais. Tal presença é vista, inclusive (ou exclusive), como um obstáculo,
um entrave ao projeto de dominação gestado desde a constituição do “sistema-
-mundo-moderno-colonial” (WALLERSTEIN, 1998; QUIJANO, 2000) inicia-
do em 1492 e efetivado no Brasil desde o início do processo de colonização.
Os territórios e territorialidades indígenas, camponesas, tradicionais, por
“r-existirem” às inúmeras desterritorializações, constituem o que podemos
considerar como espaços de reserva ética e ambiental. Estas sociedades utili-
zam os ambientes naturais de maneiras muito próprias, constituindo vínculos
de continuidade entre o mundo biofísico, o humano e o supranatural (ES-
COBAR, 2005).
Os conteúdos destes paradigmas são importantes no processo socializante de
re-significações da Natureza, diante da atual crise mundial societária e ambiental,
onde se verifica a inegável insustentabilidade da lógica de mercado e consumo,
181 Palestra proferida por Eduardo Viveiros de Castro na Festa Literária Internacional de Paraty, Brasil
(FLIP/2014).
182 LE CLÉZIO, J. M. Hai, Les sentiers de la création. Paris: Skira, 1971, p. 11. O autor publicou duas tradu-
ções sobre o tema da mitologia indígena americana.
miolo_geografia_UFF.indd 241 30/01/17 17:16
242 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
da ideia de desenvolvimento e sustentabilidade objetivada, em suma, do próprio
modo de produzir e de viver capitalistas.
Como bem expressou W. Overbeek, membro da Rede Alerta:
O conflito entre os povos indígenas e a Aracruz é, na verdade, um confronto
entre dois mundos profundamente distintos:
- o mundo da Aracruz é um mundo da euforia com a sua competitividade e
sua produção recorde, além de estar inserido na globalização econômico-finan-
ceira que domina os países hoje. Seu objetivo é a maximização do seu lucro
financeiro, estimulando um consumo individual de papel cada vez maior. Para
justificar a produção ilimitada da monocultura de eucalipto e para combater
os seus críticos, a empresa defende a tese que contribui significativamente para
o “desenvolvimento” e o “progresso”, fenômenos que seriam indiscutivelmente
bons para todos. Conta com o apoio e a força do Estado, com parcelas da ciên-
cia moderna hegemônica, e com o domínio do mercado do consumo, a nova
“religião” do mundo globalizado. [...]
- o mundo dos Tupiniquim e Guarani, ao contrário, é marcado pelo espírito
coletivo, pela solidariedade e pela inclusão. Não busca dominar ninguém, ao
contrário, destaca-se pela tolerância. Seu objetivo é se aproximar de Nhanderú,
chamado também de deus-Tupã, que deu a terra para os índios viverem bem. Por
isso valorizam as riquezas da natureza e sabem da importância de cuidar dessas ri-
quezas sem explorá-las. Seu objetivo é garantir sua sobrevivência física e cultural
e sabem que para isso precisam garantir seus direitos num mundo profundamen-
te hostil. Lutam por seus direitos, dos quais têm plena consciência. Sabem que
estes direitos são assegurados pela Constituição e até em acordos internacionais
ratificados no Brasil. (OVERBEEK. Revista Proposta, 2005/2006)
O conflito entre estes dois mundos, a que se refere o autor acima, parece exigir
que consideremos: de um lado a força homogeneizadora do poder e da hegemo-
nia do modo de viver constituídos pelos alicerces da modernidade (tanto na sua
vertente capitalista como socialista produtivista) e de outro a contra-hegemonia
que abriga incontáveis formas específicas, singulares de “mundos de viver”, cons-
tituindo e reproduzindo no seu todo tão diverso a natureza naquilo que lhe é mais
característico: a diversidade.
Os mundos de viver r-existentes das sociedades territoriais comunais (e que
afirmam a partir da biodiversidade mais cultura) apresentam nas suas narrativas e
miolo_geografia_UFF.indd 242 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 243
retóricas territoriais as semelhanças com uma natureza que está se perdendo en-
quanto outra natureza a substitui (tecno-natureza). Talvez este seja um dos fatores
mais significativos de aproximação ou de encontros entre tantos movimentos so-
ciais e diversos setores das sociedades nacionais.
Para finalizar, depois de apenas “tatear” a tamanha complexidade que estas lu-
tas parecem revelar, pelas questões que ficam abertas considero pertinente deixar
as palavras finais com Arturo Escobar:
Em última instância, o objetivo do presente trabalho é examinar a medida
em que nossos marcos de referência nos permitem ou não visualizar maneiras
presentes ou potenciais de reconceber e reconstruir o mundo, plasmado em
práticas múltiplas, baseadas no lugar. Quais novas formas do “global” podem
ser imaginadas deste ponto de vista? Podemos elevar os imaginários – incluin-
do modelos locais da natureza – à linguagem da teoria social e projetar seu
potencial a tipos novos de globalidade, de maneira que se erijam como formas
“alternativas” de organizar a vida social? Em resumo, em que medida podemos
reinventar tanto o pensamento como o mundo, de acordo com a lógica de
culturas baseadas no lugar? É possível lançar uma defesa do lugar com o lugar
como um ponto de construção da teoria e da ação política? Quem fala em
nome do lugar? Quem o defende? É possível encontrar nas práticas baseadas
no lugar uma crítica do poder e da hegemonia sem ignorar seu arraigamento
nos circuitos do capital e da modernidade? (ESCOBAR, 2005, p. 64)
Referências
AGB-ES. Relatório sobre os “Impactos da apropriação dos recursos hídricos pela Ara-
cruz Celulose nas terras indígenas Guarani e Tupiniquim – ES”. Vitória: Associação
dos Geógrafos Brasileiros – AGB/seção ES (AGB-ES), 2003.
Adilson MANFRIN. O fundamento das palavras e a continuidade na cultura Gua-
rani: o caso de Nuestra Senora de Loreto deI Pirapó. Tellus, ano 4, n. 7, p. 37-57,
Out. 2004, Campo Grande - MS.
CASTRO, Eduardo Batalha Viveiros de. Antropologia e a imaginação da inter-
disciplinaridade. Conferência em 18 maio de 2005. Orgs.: Instituto de Estudos
Avançados Transdisciplinares da UFMG (Ieat) e da Fundação de Desenvolvi-
mento da Pesquisa (Fundep)-UFMG-Campus Pampulha. Disponível em: www.
ufmg.br/boletim/bol1483/quinta.shtml
miolo_geografia_UFF.indd 243 30/01/17 17:16
244 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
CASTRO, Eduardo Viveiros de. No Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não
é. Entrevista com Instituto Socioambiental (ISA), Agosto de 2006. Disponível
em: https://pib.socioambiental.org/files/file/PIB_institucional/No_Brasil_todo_
mundo_%C3%A9_%C3%ADndio.pdf
CASTRO, Eduardo Batalha Viveiros de; SEEGER, Anthony. Terras e territórios
indígenas no Brasil. Encontro com a civilização brasileira. Civilização Brasileira,
v. 12, 1979.
CICCARONE, Celeste. Drama e sensibilidade: migração, xamanismo e mulheres
Mbyá Guarani. 352 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) – Programa de Es-
tudos de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, São Paulo, 2001.
ESCOBAR, Arturo. O lugar da natureza e a natureza do lugar: globalização ou
pós-desenvolvimento? In: LANDER, Edgardo. (Org.). A colonialidade do saber:
eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Colección Sur Sur,
CLACSO, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. setembro 2005, p.
133-168. Disponível em: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/
pt/Escobar.rtf
FUNAI/Grupo de Trabalho Técnico. Relatório Final de Reestudo da Identificação
das Terras Indígenas Caieiras Velhas, Pau Brasil e Comboios. Portaria nº 0783/94.
Vitória, 1994, v. 1, mimeo.
GEORG, Thomas. Política indigenista dos portugueses no Brasil. 1500-1640. São
Paulo: Edições Loyola, 1982.
LADEIRA, Maria Inês. As Demarcações Guarani, a Caminho da Terra Sem Mal.
Instituto Socioambiental - Povos Indígenas no Brasil 1996/2000.
LADEIRA, Maria Inês. Espaço geográfico Guarani-Mbyá: significação, constituição
e uso. Maringá: Eduem/São Paulo: Edusp, 2008.
LE CLÉZIO, Jean-Marie Gustave. Índio Branco. Lisboa: Fenda Edições, 1989,
p.13.
Leff, Enrique. La Geopolítica de la Biodiversidad y el Desarrollo Sustentable: eco-
nomización del mundo, racionalidad ambiental y reapropiación social de la natu-
raleza. En: Semináro Internacional REG GEN: Alternativas Globalização (8 al 13
de Octubre de 2005, Hotel Gloria, Rio de Janeiro, Brasil). Rio de Janeiro, Brasil
miolo_geografia_UFF.indd 244 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 245
UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, 2005. Disponible en la World Wide Web: http://bibliotecavirtual.
clacso.org.ar/ar/libros/reggen/pp12.pdf
LEFF, E. & PORTO-GONÇALVES, C. W. Political Ecology in Latin America:
the Social Re-Appropriation of Nature, the Reinvention of Territories and the
Construction of an Environmental Rationality. Revista Desenvolvimento e Meio
Ambiente, do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da
Universidade Federal do Paraná, v. 35, p. 65-88, dez. 2015. Disponível em: http://
revistas.ufpr.br/made/article/view/43543.
LOBÃO, Ronaldo J. da Silveira. Cosmologias políticas do neocolonialismo: como
uma política pública pode se transformar em uma política do ressentimento. Uni-
versidade de Brasília, Instituto de Ciências Sociais, 2006. Tese de Doutorado em
Antropologia Social.
MARACCI, Marilda Teles. Progresso da vida, progresso da morte: reterritorialização
conjunta dos Tupiniquim e dos Guarani no processo de luta pela retomada de suas ter-
ras-territórios no Espírito Santo (Brasil). Tese de Doutorado. Niterói: Universidade
Federal Fluminense, 2008.
MELIÀ, Bartomeu. A linguagem de sonhos e visões na redução do índio Guara-
ni. In: Simpósio Nacional de Estudos Missioneiros. Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras Dom Bosco, 7. Anais... Santa Rosa, 1988, p. 9-21.
______. Experiência religiosa Guarani. In: AA.VV. O rosto índio de Deus. Petró-
polis: Vozes, Coleção Teologia e Libertação, 1989.
MELIÀ, Bartomeu; NAGEL, Liane Maria. Guaraníes y jesuítas en tiempo de
las Misiones: una bibliografía didáctica. Asunción/Rio Grande do Sul, CEPAG/
URI, 1995.
MIGNOLO, Walter. Histórias locais / projetos globais: colonialidade, saberes subal-
ternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: UFMG, 2003.
MOREIRA, Vânia Maria Losada. Colonização oficial e espontânea na fronteira
norte do Espírito Santo. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito San-
to, Vitória, n.55, 2001, p. 87-104
OVERBEEK, W.; VILLAS, F.; SCHUBERT, E. Revista Proposta n. 107/108.
Rio de Janeiro: FASE, Dez/Mai. 2005/2006.
miolo_geografia_UFF.indd 245 30/01/17 17:16
246 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. O espírito de Cochabamba – a reapro-
priação social da natureza. Comunicação&Política, v. 29, n. 2, p. 104-123, 2011.
______. A reinvenção dos territórios: a experiência latino-americana e caribenha.
In: CECEÑA, Ana Esther. Los desafíos de las emancipaciones en un contexto milita-
rizado. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales,
2006.
______. Da geografia às geo-grafias: um mundo em busca de novas territoriali-
dades. In: CECEÑA, Ana Esther; SADER, Emir (Coords.). La guerra infinita.
Hegemonía y terror mundial. Colección Grupos de Trabajo de CLACSO/Grupo
de Trabajo Economía Internacional – 1ª edição. Buenos Aires: CLACSO, febrero
de 2002.
QUIJANO, Anibal .Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina. In
La Colonialidad del Saber, eurocentrismo y ciencias sociales - perspectivas latinoame-
ricanas - In LANDER, Edgardo (org.) Buenos Aires, Clacso/Unesco, 2000
SANTOS, Carlos Alexandre. Tempo e Espaço Mbyá: Algumas reflexões sobre o pro-
cesso identitário. Trabalho apresentado na IX ABANNE, em Manaus. 2005
SOUSA SANTOS, Boaventura de. O fim das descobertas imperiais. Fórum So-
cial Mundial – Biblioteca das Alternativas. Notícias do Milênio. Edição especial
do Diário de Notícias de 8 de Julho de 1999.
FUNAI. www.funai.gov.br. Acesso em 11/11/2014.
WALLERSTEIN, Immanuel. Impensar las ciencias sociales. Siglo XXI, México,
1998.
miolo_geografia_UFF.indd 246 30/01/17 17:16
Pensar a colonialidade, praticar a
descolonização: apontamentos para
uma prática contra-hegemônica
Marcelo Argenta Câmara
Introdução
Creio ser interessante iniciar esse texto com um pequeno relato autobiográfi-
co, cujo significado pode ajudar a tornar claro o que entendo por descolonização,
sendo até mesmo mais eficiente nesse sentido do que intrincadas citações acadê-
micas que, ao fim e ao cabo, podem acabar por afastar essas páginas daquelas e
daqueles a quem deveriam estar endereçadas.
No ano de 2001, em meio a um certo desencanto com as possibilidades que
a trajetória universitária no curso de Geografia parecia me oferecer até então,
decidi me afastar temporariamente das salas de aula e percorrer alguns caminhos
pelo interior de nosso continente. Não havia ali nenhuma certeza do que buscar,
mas apenas o desejo de conhecer e compartilhar experiências entre os povos desta
América Latina pela qual sempre nutri uma profunda ligação e identificação.
Sentimento esse que, nunca é demais recordar, foi fundamental pela opção por
essa carreira, em meio a outras disponíveis.
Algumas decisões são tomadas na hora certa: ao chegar numa Bolívia já visi-
tada mais de uma década antes, encontrei agora um país envolvido em intenso
processo de mobilização social que logo despertou o interesse de um ainda jovem
pesquisador. Ao procurar conhecer e compreender o que acontecia ali, pude afi-
nal ter clareza da importância do caminho que vinha trilhando em minha ainda
incipiente trajetória na universidade.
miolo_geografia_UFF.indd 247 30/01/17 17:16
248 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Quando busquei uma maior aproximação com alguns dos movimentos que
“entravam em cena”183, tive a oportunidade de me inserir, por um breve período,
junto às lideranças do movimento cocalero, do Chapare cochabambino184. Num
desses momentos, surgiu a possibilidade de uma entrevista com Silvia Lazarte,
uma das mais proeminentes lideranças daquele movimento e que viria a ser, anos
depois, presidente da Assembleia Constituinte convocada já sob a presidência de
Evo Morales. Após quase duas horas de conversa, nas quais ela discorreu sobre
temas variados, mas especialmente tratando sobre a conjuntura boliviana daque-
le momento e sobre quais eram as origens estruturais daquela condição, me vi
tentado a lhe perguntar sobre quais eram seus referenciais, quais as leituras que
guiavam aquela compreensão tão complexa e, ao mesmo tempo, incisiva. Ao que
ela me respondeu, com rosto sério e impassível: “nenhuma!”.
Hoje, quando recordo aquele episódio, posso entender aquele jovem que fez
uma pergunta que, sob meu olhar atual, era, no mínimo, ingênua. Ingenuidade
de alguma forma compreensível: vindo de um universo no qual se valorizavam
a erudição acadêmica, os saberes sacralizados pelas instituições autorizadas para
tanto, não era de todo surpreendente que se esperasse que aquelas pessoas que
estavam transformando radicalmente as relações políticas no país só estivessem
em condições de fazê-lo se embasadas nos cânones do saber político e social.
Essa passagem, ainda que obviamente insignificante sob qualquer ângulo em
que se possa analisá-la afora o estritamente pessoal, é, ainda assim, pertinentemente
ilustrativa daquilo que, hoje, compreendo como sendo a colonialidade (nesse caso
específico, a colonialidade do saber). Pois não estavam ali presentes a hierarquização
e a subordinação de saberes e práticas que tão longamente insistem em se manter
como padrão das relações nesse continente chamado América Latina?
A distinção entre colonialismo e colonialidade, conforme proposta por Qui-
jano (2000), é clara: findo o período da dominação colonial, a colonialidade per-
183 Analogia ao título da fundamental obra de Eder Sader (1988), Quando novos personagens entraram em cena.
Destaque-se, apenas, que o “novos”, nesse caso específico ao qual me refiro, não carece de ironia. Afinal,
mobilizações nascidas entre os povos originários marcaram presença constante, com maior ou menor inten-
sidade conforme o momento, ao longo de toda a trajetória boliviana.
184 Chapare é o nome pelo qual é conhecida a região tropical do departamento de Cochabamba, na Bolívia, na
qual ocorre o plantio da folha de coca e que foi alvo das políticas de erradicação durante o segundo governo
do general Hugo Banzer (1997-2001). O movimento cocalero reunia os camponeses plantadores da folha
de coca na defesa de seus plantios. A região, na verdade, compreende três províncias daquele departamento:
Chapare, Carrasco e Tiraque.
miolo_geografia_UFF.indd 248 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 249
manece enquanto seu legado mais duradouro. Se o período colonial, caracteri-
zado pela conquista e a dominação de povos e territórios por outros, amparou
sua existência em uma estrutura rigidamente vertical de relações e instituições,
condenando os povos conquistados a uma existência “a medias”, retirando-lhes
a possibilidade do vir-a-ser, é extremamente necessário percebermos que esse pa-
drão de relações permanece hoje tão vigente quanto há cinco séculos. Faça-se a
ressalva: talvez até mesmo com maior eficiência, dado que necessita menos da
coerção direta do que do consenso construído através daquilo que Fanon (2007)
denominaria como a internalização da inferioridade.
As diferentes dimensões das relações político-sociais nas quais a colonialida-
de se faz presente, já apontadas por diversos autores vinculados ao pensamento
decolonial185, nos mostram o quanto esse ainda é o “inimigo a ser combatido”. Já
são muitos os exemplos que nos mostram o quanto políticas “bem-intencionadas”
oriundas de governos nacional-populares, ou mesmo socialistas, encontraram seus
limites exatamente no fato de que trataram o outro como “objeto” de suas ações,
reforçando uma hierarquia que coloca povos e nações na equivocada posição de
imaturos política e socialmente, retirando-lhes a possibilidade de serem sujeitos e
partícipes nas definições de seu próprio devir.
Descolonizar nos surge, assim, como palavra-chave, como compromisso se
acreditamos na possibilidade de um ordenamento social mais equânime. Des-
colonizar: romper com as hierarquizações que impedem nosso acesso a todo um
conjunto de saberes e práticas contra-hegemônicas que resistem diária e cotidia-
namente nos interstícios possíveis do ordenamento ao qual somos submetidos.
A descolonização do território
Quando, em 1990, movimentos pluriétnicos de Bolívia e Equador partiram
em marcha quase simultânea desde suas comunidades até as respectivas capitais
de ambos os países, unidos sob uma mesma consigna – “Marcha Indígena pelo
Território e pela Dignidade” –, estavam ali não apenas redesenhando o cenário
político local como, também, nos oferecendo uma refinada leitura de um dos
conceitos mais importantes para o saber geográfico: o território.
É sabido que essas manifestações, ocorridas contemporaneamente à perda
da centralidades das outrora poderosas centrais sindicais, representaram um
185 Contribuições nesse sentido são oferecidas por Maldonado-Torres (2007), que fala sobre a colonialidade
do ser, e Castro-Gómez (2007), sobre a colonialidade do saber.
miolo_geografia_UFF.indd 249 30/01/17 17:16
250 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
componente essencial para a inversão da correlação de forças que até ali vigo-
rava naqueles países. No caso específico da Bolívia, o protagonismo assumido a
partir dali pelas comunidades originárias, tanto do oriente quando do ocidente
boliviano, foi o gerador de todo um processo de mobilizações que culminaria,
em dezembro de 2005, com a eleição de Evo Morales à Presidência, fato que, a
despeito das interpretações que se possam fazer hoje sobre seu governo – e sobre
os inegáveis equívocos e contradições em que incorre –, é de suma importância.
As demandas que tradicionalmente eram dirigidas aos distintos governantes do
país eram, ali, ampliadas para a inclusão desse tema de vital importância para os
distintos povos e nacionalidades indígenas cujos territórios se encontram dentro
dos marcos fronteiriços bolivianos: a autonomia territorial, cujo reconhecimento
deveria vir da convocação de uma Assembleia Constituinte que redigisse uma nova
carta magna para a Bolívia. A demanda, logo elaborada de forma a precisar seu
conteúdo, passou a afirmar a necessidade de “terra e território”. Não se falava, por-
tanto, do mero reconhecimento formal de uma extensão “x” de terras, numa locali-
zação “y”. Exigia-se, isso sim, o fato de que esse reconhecimento, ainda necessário,
deveria vir acompanhado do reconhecimento do direito daquelas comunidades ao
autogoverno; do direito a gerirem seus espaços de acordo aos seus usos e costumes;
do direito de decidirem autonomamente a melhor forma de produção e distri-
buição de recursos e a melhor forma de administração de seus conflitos. Enfim,
a possibilidade de exercerem nesses espaços as práticas sociais e culturais que os
caracterizam enquanto sociedades distintas da sociedade de matriz ocidental que
se quer hegemônica, e que caracteriza a Bolívia como um país multissocietal186.
Se pensarmos que a preocupação imediata que nos reúne, autores(as) e leito-
res(as) dos artigos aqui compilados, é buscar uma aproximação entre o que é a
descolonização, enquanto chave para a leitura dos processos sociais, e a Geografia
enquanto conjunto instituído de saberes, acredito que esses movimentos societais187
186 Tapia (2002) define o grau de diversidade encontrado em países como a Bolívia com sendo a “condição
multissocietal”, conceito com o qual demonstra que mais do que uma diversidade de línguas e de crenças
e tradições, há uma diversidade de formas de articulação das relações sociais, que produzem estruturas e
conjuntos institucionais distintos entre si que, concomitantemente, vão abrindo espaço ao surgimento de
outros tipos de conhecimento, valores, concepções de mundo. A articulação desses subconjuntos de rela-
ções forma sociedades distintas. Então, mais do que o multiculturalismo de corte liberal tão propagado nos
países centrais, estamos diante de um grau maior de diversidade que é o multissocietal.
187 Apropriamo-nos, aqui, da elaboração de Tapia e da sugestiva proposição de Raul Zibechi (em conferência
proferida durante a II Jornada Latino-americana, no dia 8/10/2014 na UFRGS) no sentido de que as fer-
ramentas para a análise e interpretação desses movimentos não podem ser, única e exclusivamente, aquelas
miolo_geografia_UFF.indd 250 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 251
já propõem, desde ali, a solução para essa equação: é preciso pensarmos, mais do
que em uma Geografia, em geo-grafias (PORTO-GONÇALVES, 2002). Pois se
entendemos o ato de grafar a terra como diretamente relacionado à experiência dos
coletivos sociais na sua luta pela apropriação dos espaços para, assim, materializar
distintas formas de relação intra e intercomunitárias, e reconhecendo a diversidade
de matrizes de relações sociais que compõe o mosaico societal que caracteriza os pa-
íses surgidos do processo de dominação e conquista colonial, é obrigatório reconhe-
cermos a multiplicidade de territórios (HAESBAERT, 2008) como condição real-
mente existente dentro daquilo que se supunha um território estatal homogêneo.
Destaque-se que a demanda pela autonomia territorial, enunciada nas mar-
chas citadas anteriormente, veio a ser contemplada – ao menos formalmente –
com a aprovação da nova Constituição Política do Estado boliviano, em janeiro
de 2009. Ali podem-se ler artigos que afirmam o respeito a uma autonomia ter-
ritorial em sentido amplo, que envolve desde a possibilidade de ordenamentos
jurídico-políticos próprios às comunidades que optarem por tê-los, como um
efetivo controle sobre recursos naturais renováveis e não renováveis que estejam
localizados dentro dessas novas circunscrições territoriais188.
Porém, mais do que palavras escritas sobre um documento, são necessários
atos concretos para que, materializando esses princípios, o novo ordenamento
proposto torne-se efetivo. Infelizmente, o governo de Evo Morales acabou in-
correndo num mesmo perfil de equívocos em sua relação com os povos originá-
rios do país, dos quais, mencione-se, afirma ser representante legítimo. O caso
mais emblemático, tratado em profundidade por Porto-Gonçalves e Betancourt
(2013), é o do Território Indígena e Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS),
momento no qual a autonomia assegurada constitucionalmente se viu confronta-
da pela estratégia desenvolvimentista do governo Morales, com direito a episódios
de repressão que nos fizeram recordar os malfadados tempos em que as ditaduras
militares vigoravam neste continente.
Longe de querer aqui esgotar as análises e discussões sobre os motivos que le-
vam a um rompimento de tal envergadura entre o governo boliviano e as próprias
aplicadas ao estudo dos movimentos sociais tradicionais, surgidos em meio a um conjunto societal mais
homogêneo.
188 A Constituição Política do Estado boliviano, promulgada após aprovação em referendo popular em 7 de
fevereiro de 2009, encontra-se disponível no site da Vice-Presidência do país. Sugere-se a leitura dos artigos
2, 289 e 290. Fonte: http://www.silep.gob.bo/silep/constitucion
miolo_geografia_UFF.indd 251 30/01/17 17:16
252 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
bases responsáveis pela construção do processo que acabou alçando-os à Presidên-
cia, penso necessário destacar aquela que considero uma das questões vitais para
esse debate: o tema do desenvolvimento. Pois, se o conflito em torno ao TIPNIS
surge a partir do projeto de construção de uma via de ligação rodoviária entre as
regiões oriental e ocidental do país, projeto esse que encontra justificativa oficial
na necessidade de escoamento de produção e de integração viária regional, em
detrimento do direito constitucional das comunidades afetadas de permanecerem
em seus territórios, o que está também em debate são concepções distintas do
significado da palavra desenvolvimento.
Descolonizar o desenvolvimento
O desenvolvimento parece ser a palavra da moda. É quase uma obsessão, oni-
presente nos discursos proferidos por órgãos públicos estatais, por instituições
privadas, por organismos multilaterais ou mesmo no senso comum. É o objetivo
sempre buscado, a justificativa para os mais diversos tipos de empreendimento.
Da geração de energia à ampliação da infraestrutura de transportes, da instau-
ração de megaprojetos de mineração à expansão do agronegócio, variadas são as
iniciativas que trazem consigo o desenvolvimento como objetivo. Embasados sob
essa justificativa, esses diversos projetos buscam atingir uma condição de consen-
so ou de incontestabilidade. Afinal, quem não quer ser desenvolvido?
Desde o momento em que fomos convencidos de que nossas carências e/ou
deficiências estruturais significavam que éramos subdesenvolvidos189, o desenvol-
vimento passou a se configurar naquilo que Garretón (2011) define como “con-
ceito-limite”: conceitos normativos, que dão sentido e organização ao conjunto
de conhecimentos e às práticas profissionais, políticas e econômicas. São “limites”
porque não se propõem metas que possam ir além deles. São igualmente “limites”
porque efetivamente impedem a adoção de estratégias que fujam das ações ado-
tadas nos lugares e tempos nos quais tais conceitos foram originalmente formula-
dos. E são, por fim, “limites”, pois não permitem o questionamento e a adaptação
desses conceitos às realidades distintas sobre as quais se aplicam.
Entender o desenvolvimento como um conceito-limite nos ajuda a compre-
ender por que é adotado como meta pelos governos da região, independente de a
qual afiliação política pertençam. As formas de atingi-lo sofrem poucas distinções
189 Para uma discussão sobre a origem da noção de “subdesenvolvimento”, ver Esteva (2009).
miolo_geografia_UFF.indd 252 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 253
entre governos dos quais se esperaria diferenças mais contundentes no que diz
respeito às maneiras como conduzem as políticas econômicas de seus respectivos
países190. Sendo mais direto e objetivo: aquilo que pareceu ser uma “guinada à
esquerda” no subcontinente sul-americano, com as eleições (e reeleições) de lide-
ranças vinculadas a partidos de (centro-)esquerda, representou o reforço e/ou a re-
ciclagem de determinadas formas de práticas exploratórias que, ao fim e ao cabo,
apenas demarcam a continuidade de políticas de cunho colonial191. A busca pelo
tão almejado desenvolvimento, remédio para todas as mazelas dessas terras, se viu
atrelada a uma intensificação dos processos de exploração de recursos naturais
(extrativismo), em suposto aproveitamento daquilo que seriam nossas potenciali-
dades mais óbvias de inserção no mercado global. “Mau desenvolvimento”, como
afirmam Svampa e Viale (2014) no feliz título de um estudo pormenorizado so-
bre como esse processo se dá em sua Argentina natal. Passou-se, segundo esses
autores, do “Consenso de Washington” ao “Consenso das Commodities”.
Beneficiados por um cenário internacional no qual os valores dos produtos
primários alcançaram máximos históricos, e auxiliados pela demanda por esses
recursos oriunda dos países asiáticos, os governos de (centro-)esquerda impul-
sionaram a atividade dos setores extrativistas-exportadores, ainda que tentando,
como bem detalha Gudynas (2009), manter paralelamente políticas de cunho
social, amparadas nos recursos advindos de um novo perfil de participação estatal
naqueles empreendimentos192.
A despeito da importância das políticas sociais desses governos, das quais o
Bolsa-Família é um exemplo significativo dadas a proximidade e a relevância que
alcançou e, igualmente, o volume de críticas de que foi alvo, o que nos cabe
destacar é que nenhuma política social provocará transformações consistentes e
duradouras se não se ataca, no mesmo processo, as mesmas estruturas que cria-
ram as desigualdades que essas políticas buscam agora sanar. Sabemos que, como
característica comum, as atividades de cunho extrativo, por mais que possam
aportar ao Produto Interno Bruto dos países nos quais são realizadas, não têm um
190 Sobre esse tema, ver Gudynas (2009).
191 Outra contribuição importante na análise desse tema, além da já sugerida de Gudynas (2010) nos é ofere-
cida por Dávalos (2011).
192 O relatório da CEPAL (2013a) sobre recursos naturais mostra que, mesmo com a queda registrada nos
valores desses recursos após a crise mundial do ano 2008, seus preços continuaram mantendo recordes
históricos em relação aos praticados antes de 2002.
miolo_geografia_UFF.indd 253 30/01/17 17:16
254 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
impacto proporcional sobre o mercado de trabalho. Antes pelo contrário...193 E
explicite-se que não estamos mencionando as “externalidades”194 desses processos:
seus passivos socioambientais que são hoje alvo de algumas das mais aguerridas
resistências populares em voga nesse continente195.
Essa conjuntura política e econômica favorável ajuda a compreender a impor-
tância, para governos da região e agentes privados a eles associados, da Iniciativa
de Integração de Infraestruturas Regionais Sul-Americanas (IIRSA), conjunto de
megaprojetos de integração de estruturas de transporte, comunicação e energia
que, assim como o Plan Puebla Panamá (PPP, atual Proyecto Mesoamérica), são
grandes projetos de ordenamento territorial pensados nos marcos da estruturação
espacial capitalista (Porto Gonçalves e Betancourt, 2013)196.
Elaborada sob a justificativa de romper com as barreiras que, supostamente,
haviam impedido uma maior integração entre as economias dos países sul-ame-
ricanos, a IIRSA representa uma efetiva ampliação das possibilidades de acesso
a recursos ainda não explorados, ampliando, no mesmo processo, os canais de
escoamento dessa produção para abastecimento da demanda externa. Nesse afã
por devorar os recursos e as potencialidades naturais do continente, faz-se um
rolo compressor sobre as formas de vida que r-existem – resistem e existem, em
permanente tensão criativa – em distintas regiões do subcontinente, e cuja conti-
nuidade se vê agora (ainda mais) ameaçada.
É obrigatório que reconheçamos, portanto, o caráter eminentemente colonial
e territorial que reside por trás disso que se afirma desenvolvimento. O “desenvol-
vimento” deve ser entendido como uma estratégia de ordenamento de territórios,
estabelecendo hierarquias e funcionalidades para as distintas regiões atingidas em
seu avanço. Direitos, necessidades, prioridades ... tudo é subsumido sob um en-
tendimento único de seu significado, que uniformiza os grupos sociais fazendo
com que a diversidade de formas de entendimento da relação socioespacial seja
invisibilizada em prol de um suposto bem comum.
193 Uma interessante análise de caso sobre México, Colômbia e Peru é oferecida pela CEPAL (2013b).
194 “Externalidade” é o termo do léxico econômico que designa os efeitos colaterais, sobre terceiros, de uma
determinada ação. É colocado aqui entre aspas de forma a destacar a absoluta ironia que o termo carrega,
como se os impactos socioambientais gerados por essas atividades não estivessem diretamente relacionados
às atividades aqui mencionadas.
195 Um exemplo são as Assembleas Ciudadanas, na Argentina, analisadas por Cerruti e Silva (2014).
196 Para um maior detalhamento da iniciativa IIRSA, ver Ceceña, Aguilar e Motto (2007).
miolo_geografia_UFF.indd 254 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 255
Vê-se que, assim como nos tempos coloniais, as principais vítimas desse tipo
de empreendimento são os povos originários, quilombolas e povos tradicionais
que, ao terem sua existência ameaçada de forma ainda mais agressiva do que
naqueles tempos, privam também a nós, os que não somos oriundos de nenhum
desses grupos, da possibilidade de aprendizado a partir de suas experiências.
Aprendizado esse que é vital para a criação de um novo imaginário político-social.
Descolonizar nosso imaginário
Penso que a importância de reconhecer a colonialidade dos processos até aqui
mencionados é irrefutável. Poderia apresentar, em defesa dessa posição, duas linhas
de argumentos: a primeira, no sentido de que esse reconhecimento é fundamental
para a sobrevivência dos povos já mencionados, sob uma clara visão humanista de
respeito ao direito dessas comunidades à sua existência sob as formas e os costumes
que autonomamente decidirem. Outra linha de argumento seria a de afirmar que
os impactos ambientais decorrentes da eliminação das formas de vida que soube-
ram se construir em convívio harmônico e adaptativo com a natureza atingiriam a
todos e todas nós, indiferentemente do grupo social ao qual pertençamos.
Acredito que ambas são linhas de pensamento dignas. Mas, ao mesmo tempo,
creio sim que elas estão longe de esgotar a importância do reconhecimento da co-
lonialidade, e consequentemente, do objetivo da descolonização, em seu sentido
mais amplo.
Não são poucas as situações com as quais nos defrontamos que nos mostram
o quanto nosso imaginário ainda é marcado por essa visão hierarquizada que ca-
racteriza a colonialidade197. Os exemplos aqui citados de governos construídos a
partir de intensas mobilizações populares, depositários das esperanças de muitas e
muitos de los de abajo, mas que, posteriormente, traíram a confiança neles depo-
sitada, não pode ser ignorado.
Talvez, nesse caso em específico, o desenvolvimento enquanto “conceito-limi-
te” – talvez, mesmo, um “conceito-armadilha” – devesse estar no cerne de nossas
197 Inevitável vir à memória o caso recente de um candidato (eleito) a senador no estado do Rio Grande do
Sul, que em ato de campanha perguntava “quantos índios no Brasil e particularmente no Rio Grande do Sul
deixaram de ser índios e são hoje profissionais respeitados e qualificados? Tem que combater a miséria em
que vivem os índios”. Fica evidente o quanto a condição indígena ainda é estigmatizada, e que para o senso
comum o combate às condições evidentemente precárias em que vive boa parte da população indígena no
País só se dará quando “deixarem de ser índios”. Mais detalhes em: http://www.radioguaiba.com.br/noticia/
indios-criticam-posicionamento-de-pre-candidato-do-pdt-ao-senado/.
miolo_geografia_UFF.indd 255 30/01/17 17:16
256 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
preocupações. Questionamentos simples, como “o que entendo realmente por
desenvolvimento”, talvez pudessem nos ajudar a desvincular essa noção de requi-
sitos tais como o aumento da produtividade e do consumo, do crescimento da
economia, entre outros tantos que se apresentam como imprescindíveis à melho-
ria das condições de vida das maiorias excluídas.
Talvez seja o momento de trazermos para o debate a questão do “bem-viver”,
tão defendido e proclamado por quechuas e aymaras em sua luta pela descoloniza-
ção dos territórios. Tendo, apenas, clareza de que o “bem-viver” não se propõe a
ser um substituto do “desenvolvimento” em sentido estrito. Não há nele a noção
de progresso, de etapas a serem vencidas, de parâmetros claros e definidos. Fosse
assim, seria outro conceito a limitar as possibilidades de criação inovadora e autô-
noma de outras formas de existência coletiva.
Como bem aponta Quijano (2014), o “bem-viver” deve ser uma questão
histórica aberta; deve ser continuamente indagado, debatido e, acima de tudo,
praticado. É só a partir dessa prática descolonizante que teremos, afinal, a possi-
bilidade de construção do novo.
Construção do novo que vem sendo dignamente exercitada, já há mais de vinte
anos, pelo movimento zapatista, em Chiapas, no México. Citar os zapatistas, ressal-
te-se, está longe de ser uma obviedade pelo simples fato de que, em sua trajetória,
esse movimento se reconstrói constantemente, rompe os paradigmas estabelecidos
de entendimento da ação social, cria e recria, inova. Compreendê-lo a fundo talvez
não seja tarefa de “estudiosos”: só a prática constante da autonomia é capaz de nos
permitir aprender dessa experiência. Não para tomá-la como modelo: os caracóis,
célula socioespacial de sua estruturação enquanto movimento, são uma forma de
organização acorde às suas culturas. Não queremos – talvez nem possamos – criar
outros caracóis: queremos a possibilidade de pensar – e criar – o novo198.
O mundo precisa de novas territorialidades (Porto-Gonçalves, 2002): autôno-
mas, insurgentes, que desafiem as lógicas hegemônicas e que criem entre si formas
de relação solidárias e horizontais. A nós, enquanto geógrafos, cabe a tarefa de
descolonizar nossa prática, voltando nosso olhar a essas outras formas de produ-
ção do espaço social.
Cabe, por fim, recordar que o subcomandante insurgente Marcos, icônica
figura que esteve à frente daquele movimento em seus primeiros vinte anos de
existência, tinha por hábito abrir seus comunicados dirigindo-se a “todos os po-
198 Para algumas análises sobre o movimento zapatista, ver Antoni e Câmara (2014).
miolo_geografia_UFF.indd 256 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 257
vos do mundo”, enumerando, por vezes, toda uma gama de grupos socialmente
excluídos, estigmatizados, colonizados. Falava aos povos originários, mas também
se dirigia às populações negras, às mulheres, a professores(as), estudantes, a punks,
a gays e transgêneros, entre tantos outros grupos.
Forma sutil de nos recordar que a colonialidade tem classe, tem cor, tem gê-
nero, e que a combater implica recriarmos muitas das formas de relação nas quais
estamos inseridos. A descolonização é, portanto, tarefa imprescindível a todas e
todos nós que acreditamos em outro mundo possível.
Referências
ANTONI, Edson; CÂMARA, Marcelo Argenta (Orgs.). Zapatistas. Porto Ale-
gre: Museu da UFRGS, 2014. Disponível em: http://issuu.com/zapatistas/docs/
zapatistas.
CASTRO-GÓMEZ, Santiago. Decolonizar la universidad. La hybris del punto
cero y el diálogo de saberes. In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSFOGUEL,
Ramón (Eds.). El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más
allá del capitalismo global. Bogotá: Iesco-Pensar-Siglo del Hombre Editores, 2007.
CECEÑA, Ana Esther; AGUILAR, Paula; MOTTO, Carlos. Territorialidad de
la dominación: Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).
Buenos Aires: Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, 2007.
CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Recursos na-
turales: situación y tendencias para una agenda de desarrollo regional en Améri-
ca Latina y el Caribe. Santiago, Chile: CEPAL, 2013a. Disponível em: <http://
www.eclac.cl/publicaciones/xml/0/52080/CELAC-Recursosnaturales.pdf>.
Acesso em: 4/2/2014.
______. Desarrollo minero y conflictos socioambientales. Los casos de Colombia,
México y el Perú. In: CEPAL – Serie Macroeconomía y Desarrollo. N. 137. San-
tiago, Chile: CEPAL, 2013b. Disponível em: <http://repositorio.cepal.org/bits-
tream/handle/11362/5369/LCL3706_es.pdf>. Acesso em: 4/2/2014.
CERRUTI, Débora Andrea; SILVA, Maria Pía. Criminalización de la protesta y
regionalización de la resistencia: procesos que atraviesan a la Unión de Asamble-
as Ciudadanas. In: Revista Contrapunto. Universidad de la República, Uruguay.
N°2. Junho, 2013. Reedição: agosto/2014.
miolo_geografia_UFF.indd 257 30/01/17 17:16
258 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
DÁVALOS, Pablo. Hacia un nuevo modelo de dominación política: violencia y
poder en el posneoliberalismo. In: OLIVERA, Oscar et al. Palabras para tejernos,
resistir y transformar en la época en que estamos viviendo. Cochabamba, Bolívia:
Textos Rebeldes, 2011.
ESTEVA, Gustavo. Mas allá del desarollo: la buena vida. In: América Latina en
movimiento. La agonía de un mito: cómo reformular el “desarrollo”? Quito: Agencia
Latinoamericana de Información, 2009. Año XXXIII, II época.
FANON, Frantz. Los condenados de la tierra. Buenos Aires: Fondo de Cultura
Económica, 2007.
GARRETÓN, Manuel Antonio. Las Ciencias Sociales ante la dictadura, la de-
mocratización y la sociedad del bicentenario. In: Democracia y cultura en tiem-
pos neoliberales. Seminario Internacional de las Humanidades, Artes, Ciencias So-
ciales y de la Comunicación. Santiago, Chile, 2011. Disponível em: <http://www.
manuelantoniogarreton.cl/documentos/2014/ccss-ante-dictadura.pdf>. Acesso
em: 27/12/2014.
GUDYNAS, Eduardo. Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Con-
textos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual. In: Extractivismo,
política y sociedad. Quito: CAAP/CLAES, 2009.
HAESBAERT, Rogério. Dos múltiplos territórios à multiterritorialidade. In:
HEIDRICH, Álvaro; COSTA, Benhur Pinós da; PIRES, Cláudia Luísa Zeferino;
UEDA, Vanda (Orgs.). A emergência da multiterritorialidade: a ressignificação da
relação do humano com o espaço. Canoas: Ed. ULBRA; Porto Alegre: Ed. UFR-
GS, 2008, 312p, p. 19-36.
MALDONADO-TORRES, Nelson. Sobre la colonialidad del ser: contribuciones
al desarrollo de un concepto. In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago; GROSFOGUEL,
Ramón (Eds.). El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá
del capitalismo global. Bogotá: Iesco-Pensar-Siglo del Hombre Editores, 2007.
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter; BETANCOURT, Santiago Milson. En-
crucijada latinoamericana en Bolivia: el conflicto del TIPNIS y sus implicaciones
civilizatorias. In: Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia. 2013. Disponível
em: http://www.cidob-bo.org/images/2013/pronunciamientos/Elconflicto-del-
-TIPNIS-sus-implicaciones.pdf
miolo_geografia_UFF.indd 258 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 259
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Da geografia às geo-grafias: um mundo
em busca de novas territorialidades. In: CECEÑA, Ana Esther; SADER, Emir.
La guerra infinita: hegemonía y terror mundial. Buenos Aires: CLACSO, 2002.
QUIJANO, Aníbal. Bien vivir? Entre el desarrollo y la colonialidad del poder. In:
Revista Contrapunto. Universidad de la República, Uruguay, n. 2. Junho, 2013.
Reedição: agosto/2014.
______. Colonialidad del poder y clasificación social. In: Journal of World-Systems
Research (Binghamton: State University of New York) vi, 2, summer/fall 2000[a],
p. 342-386. Special Issue: Festchrift for Immanuel Wallerstein – Part I.
SVAMPA, Maristella; VIALE, Enrique Maldesarrollo. La Argentina del extracti-
vismo y el despojo. Buenos Aires, Argentina: Katz Editores, 2014.
TAPIA, Luis. La condición multissocietal. Multiculturalidad, pluralismo, moderni-
dad. La Paz: CIDES-UMSA/Muela del Diablo Editores, 2002.
miolo_geografia_UFF.indd 259 30/01/17 17:16
miolo_geografia_UFF.indd 260 30/01/17 17:16
Povos e comunidades tradicionais,
conflitos territoriais e lutas pela descolonização
do saber, do poder e do território
Eduardo Barcelos
Constantemente, somos levados a crer na existência de mundos repartidos,
de mundos divididos. Primeiro Mundo, Terceiro Mundo, Mundo Desenvolvi-
do, Mundo Moderno, Mundo Atrasado; Mundo Masculino, Mundo Feminino,
Mundo Cristão, Mundo Primitivo. Há também aqueles do Norte ou do Sul,
do Local e do Global, do Hemisfério Ocidental e do Oriente e aqueles que são
colocados no mapa apenas quando ganham uma Copa do Mundo. Os mapas
oficiais nos mostram uma geografia repartida, na verdade, despedaçada e editada
aos pedaços. Um ponto de vista apenas. Não há nada mais colonial que estas
divisões, diria Eduardo Galeano, afinal, os mapas podem mentir, depende de
quem os faz e os pensa. Os mapas, antes de tudo, são mapas cognitivos, expressam
uma intencionalidade, um pensamento, um saber. Assim, tudo pode ser roubado:
assim como a economia imperial/colonial moderna roubou a riqueza e a história
europeia a memória, o espaço também foi roubado199.
A cartografia colonial nos colocou pequenos, criou um imaginário deformado
e uma visão artificial. Como criação humana, e portanto expressa por circunstân-
cias próprias, o mapa-múndi colonial afirmou a autoridade do conquistador pela
representação: deixou uns “menores do que outros”, “uns mais abaixo” e “outros
por cima”, uns deformados, dividiu e produziu conceitos. Arno Peters alertou que
a linha do Equador não atravessa pela metade o mundo, a América Latina é na ver-
dade duas vezes maior que a Europa, a África é mais ampla que os EUA e o Canadá
199 Em referência ao texto “Mapa-múndi”, de Eduardo Galeano.
miolo_geografia_UFF.indd 261 30/01/17 17:16
262 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
juntos, e a Índia é três vezes maior que a Escandinávia. O modelo cartográfico que
apreendemos na escola, Galeano alerta, nos fez observar para não ver absolutamente
nada. O mundo, tal qual ele é, não é exatamente o mundo tal qual nos fazem ver, já
dizia Milton Santos, e muito menos o mundo tal qual queremos ver ou o mundo tal
qual queremos ser. Há uma força imagética, um simulacro do mundo, que ofusca,
que borra o olhar, tudo feito exclusivamente para atender as aparências.
É no tempo dos camaleões, parafraseando Galeano, da imagética colonial destes
mapas retorcidos, onde estes mundos são produzidos; e com eles produziram-se
as suas gentes. Assim, junto aos mundos divididos e deformados, gente dividida e
deformada. gente de terceira, gente pobre, gente atrasada, gentes como a natureza,
gente feia e primitiva, gente com cor e cheiro, gente perigosa e bestial, gente subde-
senvolvida. A clivagem moderna do mundo foi uma divisão classificatória. Criou-se
a ideia do “Outro”, uma invenção do pensamento social moderno, diria Santiago
Castro-Gómez (2005). O “Outro é tudo aquilo que não somos”, diria o europeu.
Mas Galeano (o Outro) diria “somos bem mais do que sabemos que somos”.
A partir da América, desde o século XVI, o eurocentrismo irá se impor mun-
dialmente como domínio da razão e da consciência, iluminada, ilustrada, de gente
erudita, tornando os homens livres e iguais pela razão: o essencial é a igualdade de
todos pela razão. A razão é o piso básico que distingue os homens livres e pensan-
tes das “desigualdades acidentais” (ZEA, 2005). Mas, e os povos conquistados? E
essa gente, o que são? São gentes primitivas, pois são povos sem experiência, sem
história com o uso da razão. São selvagens como a fauna e a flora. O povo primi-
tivo é um ideal de sociedade que tem que começar do zero, esquecer seu passado
e se submeter ao domínio da razão. Assim, os povos conquistados, povos ligados
à tradição, são “acidentais”, são povos imersos em corpos que não permitem a
razão ser tão eficaz. “A etnia é acidental, mas é esta etnia que pode impedir o bom
uso da razão”, falavam os primeiros antropólogos (Idem, ibidem). Os povos são
diferentes: são superiores ou inferiores, estão à frente ou atrasados, são brancos ou
negros, estão no domínio da cultura ou no da natureza.
Esta visão dicotômica de organizar o pensamento social moderno-colonial
(Mignolo) foi se tornando o mais eficaz mecanismo de divisão mundial e se
impôs no mundo colonial por meio da ideia de raça (QUIJANO, 2005). A
formação de relações sociais fundadas nesta ideia produziu um feito inédito: a
construção da diferença, da superioridade e da pureza de sangue da raça branca
(cristã, masculina, científica, urbana) a partir do século XVI, especialmente pela
miolo_geografia_UFF.indd 262 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 263
emergência da “América”. A América é o lugar do outro, do diferente; do povo
indisciplinado, do povo com cor, com hábitos selvagens e inferiores. A raça é o
dispositivo de poder desta diferença, é o que classifica/diferencia um do outro.
Os índios, os negros, os mestiços, mais tarde o camponês, o trabalhador, o
homossexual, os povos tradicionais, os atingidos por barragem foram/são/serão
as identidades sociais formadas (em formação) por esta ideia-força, por esta
di-visão. E na medida em que as relações sociais que se estabeleciam/estabele-
cem estavam/estão configuradas por relações de dominação, tais identidades fo-
ram/são/estão ligadas às hierarquias, lugares, funções, arquiteturas de poder200
(QUIJANO, 2005). Assim, raça e a identidade social foram/são se estabelecen-
do/estabelecidas como dispositivos de classificação social, assim como a razão
classificou e dividiu os eruditos dos bestiais, e mais tarde o desenvolvimento,
com sociedades avançadas, das sociedades da pobreza.
E deste modo nasce a epistemologia ocidental, diferenciando o saber científi-
co dos outros saberes, das outras epistemes/matrizes de racionalidade (PORTO-
-GONÇALVES, 2005, 2006), afinal são saberes imperfeitos, empíricos. O saber
da ciência moderna (apesar de europeu, branco, cristão e patriarcal) se escondeu
na pretensa universalidade do conhecimento (fissura ontológica entre a razão e o
mundo (LANDER, 2005)); buscou ser des-subjetivado (isto é, objetivo) e o sujeito
do conhecimento, para parecer universal, não tem lugar/identidade, não tem sexo,
não tem cor, não tem classe, nem etnia e espiritualidade. É um sujeito que fala por
todos, é portador de uma razão que se autogoverna, num verdadeiro monólogo
interior consigo mesmo, sem relação com ninguém. É um monólogo de autocon-
fiança, de alisamento do ego cogitos. Assim, a produção do conhecimento, do imagi-
nário, das linguagens e da memória deve estar referenciada a um “ponto de partida
universal”, um ponto zero (CASTRO-GÓMEZ, 2005). É como “a moda do Nor-
te, a moda universal (a europeia), que celebra a arte neutra e aplaude a víbora que
morde a própria cauda e acha que é saborosa”, diria Galeano201.
200 O que o conceito de colonialidade do poder traz de novo, pensando nas estruturas de dominação de longa
duração (Wallerstein, Braudel) é a leitura da raça e do racismo como “o princípio organizador que estrutura
todas as múltiplas hierarquias do sistema-mundo” (GROSFOGUEL, 2008, p. 123). A modernidade só tem
sentido com o seu outro, a colonialidade: este poder espectral, racista, étnico e sexista que dividiu/diferen-
ciou a Europa de seu outro, a América, a colonizou. O fundamento da modernidade/colonialidade está no
descobrimento e na invenção da América. E se a raça/etnia é um conceito da modernidade, é porque elas
nascem com a América.
201 Do texto “Mapa-múndi/2”, retirado do Livro dos Abraços.
miolo_geografia_UFF.indd 263 30/01/17 17:16
264 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Isso (universalismo eurocêntrico) nos legou o silêncio/destruição de outros
saberes/pensamentos/cosmogonias/filosofias/idiomas/sabores/códigos, num ver-
dadeiro desperdício de experiência humana, como diz Boaventura de Sousa San-
tos, nos impondo como válido uma ciência social/conhecimento que opera por
exclusões e separações, com categorias dicotômicas. Negaram-se as simultaneida-
des/múltiplas temporalidades, territórios/saberes/práticas e impõe-se o tempo das
sucessões (um após o/e outro), enfim, um caminho único.
Parecem ser tão distantes de todos nós estas considerações que chega o leitor
a pensar quais seriam as implicações/mediações de tudo isso com o mundo ao
nosso redor. Olhando bem, o I Seminário Geografia e Giro Descolonial, realizado
na Universidade Federal Fluminense, em novembro de 2014, nos convida a pen-
sar sobre estas implicações. Exatamente por tentar inverter as narrativas únicas e
lineares, colocar em diálogo distintas experiências, saberes e lutas, questionar a
pretensão objetivista da ciência (quadro fundacional por dicotomias sujeito/ob-
jeto; primitivo/civilizado, conhecimento sem lugar, universal), tomar o conflito
como categoria teórica-política-prática, enfim desviar-se dos mundos inexoráveis,
daqueles que são assim apenas pelo fato de serem naturalmente assim.
Esta compreensão situa todo o debate desta seção. Afinal, estamos mergulhados
até o pescoço em continuidades, prolongamentos, espectros da colonialidade que
ainda persistem e se propagam em nossa formação social. A tese de Anibal Quijano
de que o fim do colonialismo não significou o fim da colonialidade amplia este ho-
rizonte de sentido do padrão de poder mundial capitalista, nos convidando a pensar
as formas de continuidade, de renovação e reordenamento das relações de domina-
ção por meio de novas estruturas, discursos, práticas. Afinal, quais são os discursos/
sujeitos/práticas/estruturas de dominação do mundo contemporâneo?
Muitos têm dito, conforme o leitor verá nesta seção – Povos e comunidades
tradicionais, conflitos territoriais e lutas pela descolonização do saber, do poder e
do território – que a invenção do desenvolvimento e do Terceiro Mundo (ESCO-
BAR, 1995) é um destes espectros da colonialidade que continua organizando
boa parte das ramificações/redes/estruturas de poder no mundo contemporâ-
neo202. Por isso é preciso desnaturalizá-lo. Trata-se de um discurso exatamente
202 O desenvolvimento, diria Escobar (1995), é uma jogada colonialista que recoloca o problema das divisões.
É aquele regime de representação/discurso/instituições que relocaliza o sujeito colonial nos mundos divi-
didos. O Terceiro Mundo trouxe uma nova separação/classificação mundial: o sujeito terceiro-mundista; e
assim como a raça/etnia/gênero, dividiram o mundo colonial, a pobreza será a nova categoria/dispositivo de
poder classificatório que irá dividir o mundo contemporâneo depois da Segunda Guerra Mundial (Idem).
miolo_geografia_UFF.indd 264 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 265
como aquele camaleão de Galeano, que ofusca, troca de cor nas circunstâncias,
rende-se à cultura do disfarce, fala uma dupla linguagem, uma para dizer e outra
para fazer. É aquele discurso universal, que segue uma linha evolutiva e convida o
outro para desenhá-la. É aquela ideologia que traz as noções de progresso, cresci-
mento, planejamento, negociação, ajuda humanitária, cooperação internacional,
noções bem sedutoras e facilmente encontradas nos dias de hoje. “Precisamos de
políticas de desenvolvimento sérias para retomar nosso crescimento econômico!”.
“Nosso desenvolvimento deve ser integrado e participativo!”. “Sem planejamen-
to, não há eficiência!”. “Devemos olhar para frente e ampliar nossas exportações!
Nossas negociações serão multilaterais!”. “É preciso injetar crédito na economia e
aumentar o poder de compra!” – falam os governos.
Não é de se estranhar, por outro lado que tudo isso na verdade esteja/está em
crise. Afinal, Eduardo Galeano já nos instigava, desde a década de 1970: “O sub-
desenvolvimento é uma etapa no caminho do desenvolvimento, ou é consequên-
cia do desenvolvimento alheio”? E deste modo, desenvolvimento para quem? À
custa de quê? Estas são expressões que nos convidam a olhar o desenvolvimento
por outros pontos de vista, questionar suas teses, sua pretensão universalista, ou
seja, tem a ver com a mirada (lugar) e com a experiência do sujeito no mundo.
A teoria da dependência, por exemplo, foi importante para mostrar as desigual-
dades estruturais na relação centro-periferia e revelou o caráter assimétrico do
subdesenvolvimento e sua lógica adaptativa subordinada às economias centrais
capitalistas. Sob a hegemonia deste viés econômico-estrutural estaríamos sempre
condenados ao subdesenvolvimento. Já a teoria descolonial abre uma escuta para
a experiência colonial e desvenda a partir de outros lugares de ação/enunciação,
silêncios, brechas, narrativas, interpretações, estruturas, estigmas, hierarquias e
lutas epistêmicas, políticas, étnicas que ampliam a compreensão dos processos de
dominação e dependência, para além da economia, iluminando alternativas ao
desenvolvimento. Ambas as teorias, com suas potências próprias, jogam luz para
as relações de dominação/dependência, em sentido macroestrutural, mas também
no sentido da experiência subjetiva/sensorial com a qual temos com o mundo,
O Primeiro Mundo é o Mundo Desenvolvimento e o Terceiro Mundo é o Mundo Subdesenvolvido, Pobre.
Afinal, subdesenvolvimento é aquele conjunto de “fatores ausentes”, “faltantes” aos países/povos/comu-
nidades/regiões, agora pobres e atrasadas a partir da década de 1950, pois são sociedades sem mercado,
sem técnica, sociedades rurais, sem eficiência. Já as sociedades avançadas devem inspirar o caminho. São
sociedades urbanas, industriais, tecnificadas, com rápido crescimento da produção e com valores modernos:
capital, ciência e tecnologia.
miolo_geografia_UFF.indd 265 30/01/17 17:16
266 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
ou seja, ambas mostram, de uma forma ou de outra, “o preço que se paga pelo
progresso”. Preço este, inclusive, que tem cor, classe e lugar próprios, é distribuído
de forma desigual e nem sempre beneficia a todos.
Hoje, são os povos e comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, popu-
lações camponesas, ribeirinhas e minorias urbanas, enfim grupos subalternos, os
que experimentam este preço salgado e amargo do desenvolvimento, em sua versão
mais profunda e dramática, nos limites da vida, nas fronteiras, nos confins do hu-
mano (MARTINS, 2014), naquelas situações em que o outro é forçado ao conflito
e se degrada pela sua condição subalterna, onde ele não tem nome, nem endereço,
é chamado de atingido, tem preço predeterminado, é quantificável e objeto das
políticas de compensação/mitigação de impacto. São estes sujeitos que recolocam,
hoje, no plano político, o esgotamento/crise do modelo de desenvolvimento como
caminho único. São estes os que provocam/enunciam uma crítica radical ao desen-
volvimento. Até porque são estes que continuamente vêm sendo os primeiros ex-
propriados por grandes barragens, monoculturas, siderúrgicas, estradas, corredores
logísticos, portos, enfim, obras do desenvolvimento, e os primeiros também a recu-
sarem estas ideias fáceis do imaginário desenvolvimentista, como progresso, eco-
nomia, justiça, sustentabilidade, avaliação de impactos, cidadania, controle social.
São estes os primeiros a expor/sentir os simulacros dos consensos presumivelmente
objetivistas/universais da técnica, do mercado e da ciência. São estes que vêm mos-
trando os limites insolúveis, borrados e pesados, que a supressão dos conflitos é algo
impossível, que seus contrastes, tensões e possibilidades se revelam nas “lutas pela
descolonização do saber, do poder e do território”, que as sociedades, quanto mais
divididas, mais policiadas são (Pierre Clastres), enfim, estes sujeitos ampliam e tor-
nam obrigatória uma mudança nas formas de pensar, de interpretar, de agir e narrar
o/no mundo, ou seja, nos provocam a pensar os vários giros de que necessitamos.
Os chamados projetos de desenvolvimento para estas comunidades/povos/clas-
ses sociais subalternas é o novo eixo de organização das hierarquias/redes/arti-
culações de poder, dos racismos e desigualdades sociais, étnicas e econômicas.
Eles impõem o lugar dos subalternos no mundo e, quando encontra obstáculo/
resistência, tornam o conflito seu elemento mais radical. Usam a violência física,
simbólica, epistêmica como práxis inevitável para destruir os obstáculos dessa mo-
dernização, uma espécie de “guerra justa” como um ato irredutível, um constran-
gimento inexorável, já que o desenvolvimento é para o bem geral da população.
Assim, matar, morrer e resistir faz parte do jogo.
miolo_geografia_UFF.indd 266 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 267
Os diálogos e experiências desta seção, desde o mundo subalterno da Colôm-
bia, Peru e Bolívia; e do Paraná, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São João da Barra
no Brasil, nos alertam para a desenfreada modernização do território, correlata aos
processos característicos da colonização, impondo formas de expropriação dos
territórios de povos vulnerabilizados, formas de matar, de morrer e de resistir de
diversos grupos sociais (ZHOURI; VALENCIO, 2014) submetidos às tendên-
cias globalizantes da economia (grandes obras, agronegócio, mineração), situação
que aprofunda o quadro de injustiças ambientais, étnicas e econômicas. Para estes
povos, o desenvolvimento é, sobretudo, o recrudescimento e a persistência de
conflitos territoriais às injustiças sociais e intolerâncias de variados matizes, no
que se refere à subjugação do outro, sua desqualificação epistêmica, ao modo
continuado e sistemático de silenciamento/desterritorialização das formas de vi-
ver, fazer e ser, pela precarização da vida, da moradia, do trabalho, dos recursos,
enfim, as experiências narradas aqui recolocam no centro da crítica social as lutas
por justiça ambiental, pela descolonização do território, do saber e do poder, e o
descortinamento do imaginário moderno do “desenvolvimento” e do progresso a
que estamos submetidos.
As reflexões a que estão envolvidas estas vozes questionam o ambiente inexo-
rável, totalizante e consensuado criado em torno dos projetos/políticas de desen-
volvimento, às categorias hegemonizadas, como atingido, impactos, problemas
ambientais, mitigação, cidadania ambiental, participação social, direcionando a
crítica à necessidade de desconstruir o discurso monológico do desenvolvimento,
desmontar sua arquitetura conceitual, criar a partir da experiência subalterna as ló-
gicas emancipatórias e mudar a narrativa que insiste nas separações, nos estigmas,
nas hierarquias, no caminho único, na presunção natural.
Assim, buscam novos imaginários, novos mapas cognitivos. Temas e expres-
sões como conflito e justiça ambiental, economia ecológica, cartografia social,
territórios de resistência, subalternidade, agroecologia, repertório de lutas, lin-
guagens de valoração emergem nestas tensões/turbulências/fissuras/alternativas
surgidas no contexto dos conflitos envolvendo várias comunidades e fazem par-
te da crítica ao ideário do desenvolvimento e ao modelo da colonialidade/mo-
dernidade. São categorias/teorias/enunciados que nos convidam a pensar/girar
o mundo subalterno, das vítimas, das experiências desde abajo de resistência, de
lugares contra-hegemônicos, sem terno e gravata, para lembrar Glauber Rocha, e
possibilitam problematizar as novas hierarquias de poder, as formas de domina-
miolo_geografia_UFF.indd 267 30/01/17 17:16
268 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
ção, as mediações do mundo para além do economicismo que o desenvolvimento
consegue organizar.
No sentido político da visibilidade, estas vozes caladas pelo desenvolvimento jo-
gam luz nos processos de mapeamento, tensionam a produção de mapas, o mode-
lo cartográfico oficial e buscam (re)colocar no mapa quem nunca deveria ter saído
dele. Assim, os mapas artesanais, mapas mentais, mapas falados, mapas comunitá-
rios, contramapas, enfim, as novas cartografias sociais, vêm revelando as hierarquias
e redes de poder, de dominação, práticas hegemônicas, territorialidades em tensão,
mas também fortalecem/produzem a criação, organização de grupos/movimentos
de resistência. São estes novos mapas, estas novas estéticas de representar o espaço,
as alternativas ao mundo cognitivo cartográfico colonial que nos deformou e nos
retirou no mapa, ou seja, são estes mapas sociais que nos ajudam a desnaturalizar
o desenvolvimento e vocalizar redes de resistência, de solidariedade, de denúncia,
de articulações entre povos, como a Articulação Puxirão de Povos Faxinalenses,
no Paraná; o Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia; o Mapa de Conflitos
Envolvendo Injustiças Ambientais e Saúde, no Brasil, o Projeto Agroecologia em
Rede, o Encontro Diálogos e Convergências, entre outros.
É com este desafio de vocalizar os mundos silenciados que esta seção se propõe
a contribuir. É caminhar nas fronteiras, nas áreas cinzentas, naquilo que sempre
nos pareceu tão natural.
Referências
CASTRO-GÓMEZ, Santiago. Ciências sociais, violência epistêmica e o proble-
ma da “invenção do outro”. In: LANDER, Edgardo (Org.). A colonialidade do
saber: eurocentrismo e ciências sociais, perspectivas latino-americanas. Buenos
Aires: CLACSO, 2005.
ESCOBAR, Arturo. La invención del Tercer Mundo: construcción y desconstruc-
ción del desarrollo. Bogotá-Colômbia: Editora Norma, 1995.
GROSFOGUEL, Ramon. Descolonizando los paradigmas de la economía-política:
transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global. Berkeley: Uni-
versidade da Califórnia, 2008.
LANDER, Edgardo (Comp.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências
sociais, perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO/Unesco, 2005.
miolo_geografia_UFF.indd 268 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 269
MARTINS, José de Souza. Fronteira: a degradação do outro nos confins do hu-
mano. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2014.
PORTO GONÇALVES, Carlos Walter. Apresentação. In: LANDER, Edgardo
(Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais, perspectivas
latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO/Unesco, 2005.
______. A globalização da natureza e a natureza da globalização. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2006.
QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina.
In: LANDER, Edgardo. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais,
perspectivas latino-americanas. Buenos Aires: CLACSO/Unesco, 2005.
______. Colonialidad del poder y clasificación social. Journal of World-systems
Research, v. 11, n. 2, p. 342-386, 2000.
ZEA, Leopoldo. Discurso desde a marginalização e a barbárie. A filosofia latinoame-
ricana como filosofia pura e simplesmente. Rio de Janeiro: Garamond, 2005.
ZHOURI, Andréa. Mapeando desigualdades ambientais: mineração e desregu-
lação ambiental. In: ZHOURI, Andréa; VALENCIO, Norma (Orgs.). Formas
de matar, morrer e resistir: limites da resolução negociada de conflitos ambientais.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2014a.
ZHOURI, Andréa; VALENCIO, Norma (Orgs.). Formas de matar, morrer e re-
sistir: limites da resolução negociada de conflitos ambientais. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2014.
miolo_geografia_UFF.indd 269 30/01/17 17:16
miolo_geografia_UFF.indd 270 30/01/17 17:16
As múltiplas faces da colonialidade hegemônica
na genealogia das práticas territoriais do
movimento indígena, a partir da
segunda metade do século XX no Brasil
Marcos Vinícius da Costa Lima
No dia 18 de novembro de 2014, no auditório Milton Santos da Universi-
dade Federal Fluminense/Niterói-RJ, foi realizado o “I Seminário de Geografia
e Giro Decolonial: Experiências, Ideias e Horizontes de Renovação”, promovido
por NETAJ203 e NEGRA204. Na ocasião foi debatido o tema “Povos indígenas e
as lutas pela descolonização do saber, do poder e do território”, que provocou nos
participantes a indignação ao ouvir relatos de tantas injustiças socioambientais.
Os palestrantes teceram suas argumentações teóricas a partir das suas experiências
com as condicionantes epistemológicas, históricas e políticas relativas às diferentes
formas de conflitos e violência geradas pelo avanço das introspectivas políticas de
controle territorial e social, em particular dos indígenas. A mesa era composta pela
profª. Drª Marilda Telles Maracci, prof. Dr. Marcelo A. Câmara e Prof. Dr. Emerson
Ferreira Guerra e José Guajajara, militante do Coletivo Indígena Maracanã do Rio
de Janeiro, que juntos definiram o indigenismo truculento, autoritário e integracio-
nista que os movimentos indígenas enfrentam na América latina, e em particular
no Brasil. Tais fatos nos suscitam a questionar sobre que indigenismo alternativo
poderia se contrapor ao modelo introduzido pelo pensamento colonial ocidental.
203 Núcleo de Estudos Sobre Território, Ações Coletivas e Justiça – NETAJ coordenado pelo professor Dr.
Valter do Carmo Cruz do Programa de Pós-Graduação de Geografia da UFF.
204 Núcleo de Estudo e Pesquisa em Geografia Regional da África e da Diáspora coordenado pelo prof. Dr.
Denilson Araújo de Oliveira da FFP/UERJ.
miolo_geografia_UFF.indd 271 30/01/17 17:16
272 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Do ponto de vista acadêmico, o evento contribuiu, no conjunto de suas atri-
buições, para a construção de representações das correlações de forças inerentes
à questão indígena. A partir deste propósito, pretende-se analisar as práxis das
distintas políticas indigenistas implantadas no território nacional. Pois os insights
que vêm à tona é a ratificação das assertivas de Giorgio Agamben (2002), ao dis-
correr sobre a sua teoria de Homo sacer, ou da “gestão da vida” (Foucault, 1988),
visto que o “índio” traz na sua geografia uma História marcada pelas diversas
formas de etnocídio.
A construção das políticas voltadas para a questão indígena, conclusivamen-
te, foram desenvolvidas na manjedoura das matrizes ideológicas ocidentais, que,
indubitavelmente, moldaram o indigenismo oficial do Brasil, incorporando, in-
clusive, nos últimos cinquenta anos, novas tendências e ramificações políticas do
poder hegemônico.
As investidas pactuadas pelos agentes formatadores do indigenismo oficial do
Brasil representam na sua essência genealógica uma confluência de pelo menos
quatro tipos de matrizes do pensamento hegemônico ocidental, que por sua vez
convergem políticas territoriais dentro de uma mesma racionalidade colonial,
como bem ressaltou Grosfoguel, que a colonialidade se apresenta numa “conti-
nuidade das formas coloniais de dominação, mesmo após o fim das administra-
ções coloniais, ainda são produzidas pelas culturas coloniais e pelas estruturas do
sistema-mundo capitalista moderno-colonial” (GROSFOGUEL, 2010, p. 468).
Os agentes hegemônicos, ao objetivarem a materialização de seus interesses
congênitos, subalternizam os povos e comunidades étnicas, seguidos das tenta-
tivas de desqualificar, na correlação de forças de setores mais impositivos, a legi-
timidade dos direitos originários, principalmente, no que tange ao uso e à apro-
priação dos territórios tradicionalmente ocupados.
Para compreender as questões relativas aos conflitos políticos e territoriais de-
terminadas pela correlação de forças entre os agentes dominantes e o movimento
indígena, propõe-se uma representação, inicialmente, com um esquema (ver Fi-
gura 1) de análise sobre a realidade aproximada, seguida de uma exposição teórica
sobre a escolha dos métodos de análise que explicam como as políticas indigenis-
tas atravessaram a gênese do movimento indígena, (re)produzindo práticas terri-
toriais, antagônicas e contraditórias na defesa da identidade étnica e do território.
miolo_geografia_UFF.indd 272 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 273
Figura 1 – Esquema da Genealogia do Movimento Indígena frente aos con-
flitos territoriais.
A tentativa de se construir um indigenismo alternativo, ou seja, que se contra-
ponha ao projeto de assimilação e integracionista implantado pelo indigenismo
oficial, partiu inicialmente da década de 1970 com a organização política dos
povos étnicos, apesar de sua trama política local e internacional ter sido constru-
ída na década anterior. Algumas mudanças na perspectiva econômica, política
e da Igreja Católica ativaram, definitivamente, um novo processo de rearranjo
espacial, de políticas desenvolvimentistas e ambientalistas, que passaram a dia-
logar no plano do reordenamento político e territorial, vindo a constituir uma
rede multiescalar para pensar políticas de inclusão indigenistas nos projetos da
colonialidade ocidental.
A complexidade de acontecimentos, aparentemente desconexos, pode ser en-
tendida a partir da identificação dos agentes que se encontram na malha de inte-
resses contraditórios pertinentes à questão indígena. Do ponto de vista didático
e metodológico, será feita uma separação dos agentes políticos que influenciaram
(in)diretamente na transfiguração do termo “índio” (OLIVEIRA, 1988), tida,
historicamente, como referência residual do colonizador (QUIJANO, 2000) e
que veio a se tornar num instrumento político de luta no processo de reconheci-
mento de direitos identitários e territoriais do movimento indígena.
É importante ressaltar, antes de apontar os principais agentes que fizeram,
e ainda fazem, parte da correlação de forças que ditam regras e intenções no
miolo_geografia_UFF.indd 273 30/01/17 17:16
274 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
campo do indigenismo nacional, que o “poder” que emana dessas relações não
significa a corporificação do conjunto de instituições e aparelhos garantidores da
sujeição dos cidadãos em um Estado determinado, nem como modo de sujeição
que, por oposição à violência, tenha a forma da regra, assim como não se deve
entender como um sistema geral de dominação exercida por um elemento ou
grupo sobre outro, estas perspectivas são, na verdade, formas terminais do poder
(FOUCAULT, 1988).
O poder, a que se refere a análise em voga, está inscrito na linguagem norma-
tiva expressa na e pela correlação de forças que os nominalistas denominam de
indigenismo. Este é constituído de um conjunto de intenções e diretrizes forma-
tado em campos distintos de poder da sociedade hegemônica e que, por sua vez,
operam no território nacional, carregando consigo as suas formas do poder de ori-
gem, assim denominadas de indigenismo governamental, empresarial, missioná-
rio e ambiental. Estes discutiremos, mais à frente, com mais detalhes. Ainda sobre
o poder, Foucault (1988) ressalta que este termo deve ser compreendido como:
a multiplicidade de correlação de força imanentes ao domínio onde se exercem
e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e afrontamentos
incessantes as transformam, reforça, inverte; os apoios que tais correlações de
força encontram umas nas outras, formando cadeias ou sistemas ao contrário,
as defasagens e contradições que as isolam entre si; enfim, as estratégias em
que se originam e cujo esboço geral ou cristalização institucional toma corpo
nos aparelhos estatais, na formulação da lei, nas hegemonias sociais. (FOU-
CAULT, 1988, p. 102-103)
Outro aspecto que deve ser elucidado nesse processo de reflexão metodológi-
ca, antes de submeter a análise os agentes hegemônicos, é a construção do termo
“índio” enquanto categoria política no Brasil. Elaborada no espaço-tempo dis-
tinto, contudo articulado por um conjunto de redes de orientações ideológicas
hegemônicas que obedeceu a um fluxo de políticas econômicas e ambientalistas
interligadas dialeticamente pela escala do local-global-local.
A categoria política “índio”, consagrada até a metade do século passado como
uma insólita unidade da colonialidade ocidental, passa então a constituir um
novo instrumento de disputa política por deter um poder simbólico e capital.
Essa importância parte do reconhecimento de seus direitos consuetudinários e
miolo_geografia_UFF.indd 274 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 275
territoriais. Pois é através dessa unidade polissêmica (políticos, culturais e am-
bientais) que as políticas indigenistas capilarizam numa espécie de rede “solidária”
(MELUCCI, 2001) a sua conformização entre a multiplicidade de agentes que
se entrelaçam numa trama de interesses antagônicos, convergentes, divergentes e
complementares estabelecida, inexoravelmente, em campos distintos de conflitos.
No “jogo” de poderes (BOURDIEU, 2004, 2007) emergem as contradições
do indigenismo, onde o termo “índio” é apropriado pelas práticas territoriais do
movimento social indígena como estratégia de autoafirmação e de reivindicação,
assumindo, portanto, o seu papel na defesa dos seus direitos originários.
Nesse sentido, o protagonismo indígena provoca mudanças no cenário local-
-global-local em que são pensados os atributos e significados das ações dos indi-
genismos. É por meio da categoria “índio” e todo o seu capital adquirido na luta
política pelo pertencimento territorial e pelo direito de serem cidadãos indígenas
que o movimento organizado indígena está aperfeiçoando as suas estratégias de
atuação política e adquirindo um repertório de novas práticas territoriais para se
manterem na disputa pela partilha do poder.
A gênese da genealogia do movimento indígena: por um instrumento
decolonial de investigação
A importância primordial em entender a genealogia do processo de organiza-
ção do Movimento Social Indígena nos leva a concordar com o sociólogo Alberto
Melucci (2001, p. 21), que, do ponto de vista da análise científica, os movimen-
tos sociais representam “um sinal, não apenas como produto da crise, são, ao
contrário, a mensagem daquilo que está nascendo. Eles indicam uma transfor-
mação profunda da lógica e nos processos que guiam as sociedades complexas”.
Melucci (2001) ainda nos ressalva que as “novas formas de poder podem, assim,
consolidar-se, de múltiplas e difusas, irredutíveis a uma geometria linear e facil-
mente reconhecível”. A partir dessa perspectiva, entende-se que compreender as
atribuições, os seus significados e estratégias contidos nas ações e orientações do
movimento indígena, pressupõe construir uma representação teórica e analítica
dos fatores históricos e sociopolítico, que possam identificar, nas práticas políticas
e territoriais deste coletivo, o sentido que dão razão a suas formas de resistência e
r-existência (PORTO-GONÇALVES, 2006).
O movimento social indígena aqui concebido teve como referências as carac-
terísticas e fundamentações teóricas apresentadas por Raul Zibechi (2003), quan-
miolo_geografia_UFF.indd 275 30/01/17 17:16
276 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
do ele aborda as especificidades dos movimentos sociais organizados na América
Latina contemporânea. Segundo Zibechi, hoje os novos movimentos sociais pos-
suem significativos traços em comum, pois os movimentos sociais partem inicial-
mente de três principais fontes sociopolíticas e ideológicas: as das Comunidades
Eclesiásticas de Base (CEBs) vinculadas à Teologia da Libertação, da insurgência
indígena portadora de uma cosmovisão distinta da ocidental, e do Guevarismo,205
sistematizado pelo pensamento de Che Guevara e que inspirou a militância revo-
lucionária de conotações marxistas.
Raul Zibechi (2003) reconhece, também, que os movimentos sociais apresen-
tam características que de alguma forma atravessam uma singularidade de orien-
tações, ilustrando inclusive o perfil das diretrizes dos movimentos sociais indíge-
nas na contemporaneidade. São eles: 1. os movimentos buscam se autoafirmar a
partir do seu território, ameaçado ou em situação de desapropriação, compulsória
ou não, por agentes econômicos ou estatais; 2. buscam a sua autonomia, tanto
do Estado como de partidos políticos, assim como do ponto de vista econômico;
3. buscam a valorização da sua identidade e da cultura dos povos e dos diversos
sujeitos sociais; 4. apresentam a capacidade de formar seus próprios intelectuais,
vindo por meio da apropriação e do controle dos meios educacionais, a exem-
plo da criação da Universidade Intercultural dos Povos e Nações Indígenas e de
educação intercultural bilíngue; 5. buscam a afirmação do novo papel político
das mulheres como lideranças nos movimentos sociais; 6. buscam reafirmar suas
formas de organização social e de trabalho num patamar igualitário e horizontal,
pautadas em novas relações técnicas de produção que não geram alienação e nem
sejam depredadoras do meio ambiente; e, por fim, 7. apelam para as novas for-
mas de luta e resistência, que preferem fazê-los pela ocupação de terras, prédios e
praças públicas.
Constata-se, no entanto, que os movimentos sociais indígenas, em particular
no Brasil, apresentam características comuns às que Raul Zibechi (2003) dis-
corre acima, todavia que suas similitudes possuem, localmente, tramas constru-
ídas historicamente, no processo de lutas que surtirão efeitos contraditórios e
complementares nas práticas territoriais do movimento indígena localizados em
territórios específicos. Os fatores políticos e econômicos, na escala da conjuntura
internacional, são marcados pelos interesses dos agentes hegemônicos externos,
205 O Guevarismo, denominação dada às concepções e ideologias políticas, influenciadas pela teoria marxista,
que foram construídas por Che Guevara durante suas ações de militância revolucionária.
miolo_geografia_UFF.indd 276 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 277
cuja base socioeconômica-política e ideológica estará formatada em novos códi-
gos de ajuste de conduta multilaterais entre as nações copartícipes assinaladas,
principalmente, pelas convenções e os tratados internacionais.
A introdução de novas regras contraditórias, excludentes e complementares
no jogo colonial ocidental dos agentes hegemônicos, provoca mudanças nas es-
truturas de poderes locais, que podem se restabelecer como forças dominantes
ou não. No entanto, para os agentes locais manterem suas práticas territoriais
como forma de resistência e de r-existência (PORTO-GONÇALVES, 2006), será
necessário reelaborar as suas estratégias de luta para garantir a sua manutenção
política e espacial no jogo.
A partir desta trama do indigenismo do brasileiro podemos identificar, pelo
menos, quatro representações políticas que se destacam como poderes dominantes:
o Estado (constituído pelos seus aparelhos administrativos), o setor empresarial,
a Igreja Católica (setores progressistas do clero) e os ambientalistas (preservacio-
nistas e conservacionistas), que irão adotar, a partir da racionalidade hegemônica,
contudo focados nos seus interesses específicos, “novas” formas de ação, agora em
sintonia com as questões relativas ao tratamento dado, em particular aos povos
indígenas, principalmente a partir da segunda metade do século XX.
Para entendermos a construção e a dinâmica da trama relativa ao processo de
organização do movimento indígena no Brasil, adotou-se a proposta metodoló-
gica de Alberto Melucci (2001), que sugere decodificar, separando as ações de
poder, sem perder de vista o sentido da coesão coletiva dos agentes dominantes
que atravessam historicamente a questão indígena, desde a implantação do indi-
genismo oficial no Brasil, em particular a do século XX.
Portanto, é separando por distinção a intencionalidade e os significados dos
planos indigenistas na e pelo exercício das práticas territoriais dos movimentos
sociais que se tem a possibilidade de compreender a heterogeneidade concreta dos
conteúdos dos indigenismo, pois estes são por formação política, portadores de
instâncias múltiplas e, frequentemente, contraditórias. Como efeito deste proce-
dimento, é possível identificar as situações potencializadoras que geram os dife-
rentes tipos de conflitos políticos e territoriais. Esta é a assertiva da metodológica
de análise sugerida por Alberto Melucci, que assegura, em outras palavras, que:
os fenômenos empíricos dos movimentos nunca são realidade homogênea
e o trabalho de decomposição analítica obriga a sair-se de uma ideia ro-
miolo_geografia_UFF.indd 277 30/01/17 17:16
278 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
mântica dos movimentos para reconhecer que os fenômenos coletivos são
feitos de motivações, formas de relação, orientações diversas. A sua origem
e o seu êxito são, também estes, um tanto quanto heterogêneos e frequente-
mente produzem novas formas de poder, novas violências e novas injustiças.
(MELUCCI, 2001, p. 8)
A perspectiva metodológica indicada por Melucci (2001) de “decompor” para
reconstruir a realidade de um fenômeno, objetivando o descortinamento da “ori-
gem” e “êxito” dos movimentos indígenas no Brasil, coaduna, necessariamente,
com a proposta de investigação dos acontecimentos, a partir de uma “Genea-
logia” dos fenômenos sociais, método que Foucault (2012) exalta em uma de
suas aulas sobre as reflexões de Friedrich Nietzsche no tocante à genealogia dos
fenômenos sociais.
A Genealogia, enquanto método, trata da historicidade de um fenômeno so-
cial, como um recurso, que busca marcar as singularidades num conjunto de
acontecimentos sem, no entanto, se opor à História, mas ao desdobramento
meta-histórico das significações ideais e das indefinidas teleologias. Portanto, se
opondo, definitivamente, a pesquisar a “origem” da sua identidade primeira, re-
colhida cuidadosamente em si mesma, da sua forma imóvel e anterior a tudo que
o é externo.
Notifica-se que ao apoiar-se nos pressupostos da “Genealogia”, no que tange à
construção da gênese do movimento organizado dos indígenas no Brasil, refuta-
-se, portanto, a ideia de que o movimento indígena, enquanto fenômeno social,
seja reificado por meio de datas de nascimento, referindo-se a um ato primeiro de
uma determinada reunião ou da criação de uma entidade, como bem vem sendo
propagado na literatura da história dos movimentos indígenas.
Alguns historiadores afirmam que o indigenismo oficial, por exemplo, foi lan-
çado com a criação, em 1910, da instituição governamental denominada de Ser-
viço de Proteção ao Indígena – SPI, com o objetivo de desmobilizar as resistências
ou levantes de movimentos indígenas no Centro-Sul, fincando, assim, as bases
do descontentamento para gerarem condições favoráveis à organização dos mo-
vimentos indígenas. Já outros afirmam que o movimento nasceu em 17 de abril
de 1974, na missão Anchieta, localizada na cidade Diamantino, estado do Mato
Grosso, durante a primeira Assembleia de líderes Indígenas do Brasil, organizada
pelo Conselho Indigenista Missionário – Cimi (OLIVEIRA, 1988).
miolo_geografia_UFF.indd 278 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 279
Pela ótica da Genealogia, Foucault (2012) afirma que o pesquisador “deve ter
a acuidade de um olhar que distingue, reparte, dispersa, deixa operar as separa-
ções e as margens”, e, mais adiante, Foucault assevera que o saber histórico ou
História “efetiva” se difere da História do historiador por não se prender a uma
constância, não ter dificuldades em colocá-los em pedaços – em mostrar seus
avatares, demarcar seus momentos de forças e de fraquezas, assim ele certifica que:
é preciso entender por acontecimento não uma decisão, um tratado, um
reino, ou uma batalha, mas uma relação de forças que se inverte, um poder
confiscado, um vocabulário retomado e voltado contra seus utilizadores, uma
dominação que se enfraquece, se distende, se envenena, e outra que faz sua
entrada, mascarada. As forças que se encontram em jogo na história não obe-
decem nem a uma destinação, nem a uma mecânica, mas ao acaso da luta. Elas
não se manifestam como formas sucessivas de uma intenção primordial; como
também não têm o aspecto de um resultado. Elas aparecem sempre na álea
singular do acontecimento. (FOUCAULT, 2012, p. 73)
Portanto, ao adotar a Genealogia, enquanto procedimento metodológico, para
entender a gênese do movimento indígena no Brasil, buscou-se compreender, so-
bretudo, como se deu a constituição e (re)produção política dos seus agentes na
conjuntura política de escala local e internacional, e para tanto foram extraídos os
atributos (antagônicos, divergentes, convergentes e complementares) inerentes a
sua forma mesclada de ser. Ressalta-se, também, a natureza plural de orientações,
significados e de relações que convergem para os diferentes tipos de indigenismo.
O indigenismo representa, no entanto, um corpo de ideias que força os opri-
midos a pensarem e agirem a partir da realidade dos agentes dominantes envol-
vidos no jogo, e tais pressupostos puderam ser esclarecidos, também, pela con-
tribuição das teorias de “habitus” e “campos sociais” desenvolvidos por Bourdieu
(2007, 2004), que, ao abordar sobre o habitus dos agentes, assevera que o pesqui-
sador deve conhecer, inicialmente, como eles pensam e agem nos campos sociais,
além de afirmar, que:
Para saber o que as pessoas fazem, é preciso supor que elas obedecem a uma
espécie de “sentido do jogo”, como se diz em esporte, e, para compreender suas
práticas, é preciso reconstruir o capital de esquemas informacionais que lhes
permite produzir pensamentos e práticas sensatas e regradas sem a intenção de
miolo_geografia_UFF.indd 279 30/01/17 17:16
280 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
sensatez e sem uma obediência consciente a regras explicitamente colocadas
como tais. (BOURDIEU, 2004, p. 97-98)
Melucci (2001, p. 30) reforça que “a ação coletiva dos movimentos remete
sempre algo de si a outro, porque, em sentido próprio, não existe”, caso contrário,
utilizando como exemplo a questão indígena, seria um tipo de indigenismo que
tem, por atribuição, doutrinas ou políticas de ações pensadas por agentes externos
ou estranhos a outros. Nesse sentido, o jogo tem no campo político dos indígenas
um conteúdo que é regrado pelo pensamento hegemônico ocidental, e, como
efeito, o seu espírito é representado no indigenismo oficial.
A observação de Melucci (2001) provoca, portanto, o questionamento: quem,
então, pensou (pensa) o indigenismo oficial para os índios no Brasil? Como e por
que é na forma que é? Pressupõe-se que, pelo conjunto de acontecimentos que
marcaram as mudanças econômicas e políticas ocorridas no plano global com
reflexos locais, foi alterada definitivamente a forma de tratamento dispensada aos
índios pelo indigenismo oficial.
As imbricações que dão a forma atual do indigenismo oficial
A doutrina do indigenismo oficial contemporânea, particularmente no início
do século XX, foi pensada pelas elites intelectuais da sociedade hegemônica, já
que os índios, na época, não tinham vozes como cidadãos brasileiros, e o Estado
os tratava como seres que precisavam de uma política de assistência que os con-
duzissem da situação de “barbárie” à “civilização”, como bem descreveu Oliveira
(1988) sobre a política do indigenismo governamental. Tal postura política teve
como seu principal enraizador o militar Cândido Mariano Rondon, um adepto
do positivismo de Augusto Conte, que defendia:
...uma política protetora que garantisse o funcionamento pleno dos mecanis-
mos evolucionistas, de outro, impunha ao índio um único caminho, o de sua
inexorável civilização nos termos definidos pela tradição ocidental europeia.
O respeito ao índio frequentemente alegado na retórica protetora, cingia-se
estritamente a manutenção de uma sobrevivência enquanto passagem de um
estado evolutivo a outro mais avançado na escala do progresso da Humanida-
de. (OLIVEIRA, 1988, p. 22)
miolo_geografia_UFF.indd 280 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 281
A racionalidade do indigenismo governamental teve (e ainda tem) o papel de
interlocutor dos desenvolvimentistas, pois estes, no seu afã de avançar no proces-
so de ocupação econômica das novas fronteiras do Centro-Oeste e Norte do País,
contou com a primazia do aporte jurídico e a anuência do Poder Executivo.
O Estado, ao manter a sua posição de facilitador, criou, em 1910, o Serviço
de Proteção ao Índio – SPI, um órgão ligado, diretamente, ao Poder Executivo
para tratar das questões indígenas. Essa iniciativa se deu, exatamente, no período
em que se encontrava em construção a ferrovia Noroeste do Brasil, que deveria
atravessar as terras dos resistentes Caingangue.
O SPI exerceu as suas funções com maestria frente aos conflitos territoriais,
mediando em favor de seus imbricados projetos econômicos, pois buscava “pacifi-
car os indígenas”, assim como convertê-los em camponeses. O SPI, também, visa-
va gerar na época mão de obra para a construção da infraestrutura de telecomuni-
cação e transportes. O desenvolvimentismo governamental impetrou, a partir de
então, uma intensa campanha “anti-indígena” que causou a desterritorialização e
a desorganização social e cultural dos povos indígenas.
Em 1966 foi extinto o SPI, marcando uma nova etapa na história do indige-
nismo no País. O Brasil vivia o regime ditatorial do governo dos militares, em
que pese o discurso da ideologia da segurança nacional, o governo refez parte
do quadro administrativo do seu antigo orgão indigenista, criando, em 1967, a
Fundação Nacional do Índio – Funai, sem, contudo, alterar a lógica primeira do
indigenismo oficial, sofrendo apenas um certo refinamento teórico e científico
dado pelo seu primeiro gestor, o etnólogo Darcy Ribeiro.
O indigenismo oficial imbricado pelo indigenismo desenvolvimentista
O atributo do indigenismo governamental manteve-se imbricado nas recor-
rentes prerrogativas coloniais exercidas pelas ações territoriais dos desenvolvi-
mentistas, pois para estes agentes investirem capital em seus projetos econômicos
exigiria um arcabouço instrumental de caráter jurídico, estrutural e econômico
que subsidiasse e garantisse a “contenção” das resistências sociais (HAESBAERT,
2014) e a rentabilidade de seus empreendimentos. As grandes ações do capital
empreendedor costumam ser mediadas pelo governo por meio de políticas de
ordenamento regional, nas quais se impõem as suas pretensões econômicas, tanto
na forma de projetos quanto em programas ou planos de desenvolvimento.
miolo_geografia_UFF.indd 281 30/01/17 17:16
282 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Um bom exemplo cabal das ações desenvolvimentistas, que avançaram sobre
os territórios de influência indígena, foram as frentes agrícolas previstas nos pla-
nejamentos da “Macha para o oeste”, que se alinhou, ainda no governo Vargas,
ao processo de industrialização do País, seguido dos “Planos de Metas” (1956 a
1961), nos Planos de Desenvolvimento Nacional (PDN) I e II (1972 a 1978),
Polamazônia (1974) (Projeto Grande Carajás) e outras formas faraônicas de apro-
priação e exploração dos recursos naturais em terras tradicionalmente ocupadas.
O indigenismo desenvolvimentista tem como característica a colonialidade
(GROSFOGUEL, 2010), que transversaliza as questões indígenas com suas prá-
ticas territoriais, subalterniza comunidades indígenas, fragilizando suas estruturas
ambientais e culturais necessárias a manutenção e reprodução social, identitária e
territorial indígena.
As estratégias recorrentes de tentar justificar o desenvolvimentismo econômi-
co pela desqualificação dos direitos consuetudinários dos povos étnicos têm ad-
quirido um repertório de táticas ousadas, revelando injustiças imensuráveis. Um
exemplo desse tipo de indigenismo ou “indigenismo empresarial”, apresentado
por Baines (2000), que, por sua vez, denunciou uma dessas práticas de desterri-
torialização na Amazônia, foi executada na década de 1980 pela Eletronorte e a
Mineração Taboca S/A do Grupo Paranapanema contra os Waimiri-Atroari:
...as imagens dos líderes Waimiri-Atroari divulgadas pela Eletronorte através
da mídia mascaram as relações sociais assimétricas estabelecidas por uma admi-
nistração indigenista que subordina os índios aos processos decisórios de pla-
nejamento, execução e avaliação, e os incorpora na sua política publicitária. A
empresa vem construindo imagens de um programa modelo de indigenismo,
com a mensagem implícita ao público que os efeitos nocivos de grandes usinas
hidrelétricas em áreas indígenas podem não apenas ser contornados (BAINES,
1994: 27-35), mas revertidos em benefícios para os índios por meio de progra-
mas indigenistas assistencialistas. Dessa maneira, a empresa alinha a ação com-
pensatória do Programa Waimiri-Atroari (Funai-Eletronorte) com a política
energética para a expansão de usinas hidrelétricas. (BAINES, 2000, p. 144-145)
Outra forma mais frequente de desterritorialização dos povos indígenas no
Brasil é o remanejamento compulsório, que tem gerado o etnocídio de muitos
povos étnicos. As estratégias desastrosas do indigenismo desenvolvimentista têm
deixado, em particular nas regiões Centro-Oeste e Norte do País, muitas baixas
miolo_geografia_UFF.indd 282 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 283
indígenas, como relata o padre Dom Pedro Casaldáliga a Oliveira (1987) sobre o
projeto Suiá-Missu numa parte do Araguaia mato-grossense:
Após muitos encontros com os indígenas, presentes foram oferecidos para acal-
má-los. Posteriormente, a cada dia era oferecido um boi para os indígenas. Mas
isso estava ficando caro para a Suiá-Missu. Resolveu-se, então, transferi-los.
“Os Xavantes foram transportados em avião da FAB (Força Aérea Brasileira),
em número de 263, tendo morrido boa parte deles em poucos dias depois
de chegados a São Marcos, vitimados por uma epidemia de sarampo.” (Dom
Pedro Casaldáliga, 1987)206
O indigenismo oficial imbricado no indigenismo ambiental
O indigenismo oficial nas décadas de 1960 e 1970 passou por um processo
de readaptação política e econômica, principalmente em função das pressões das
agências multilaterais internacionais, que ditaram, progressivamente, um reor-
denamento nas formas de investimento em projetos desenvolvimentistas, inau-
gurando, a partir de então, uma tendência em normatizar o uso e a apropriação
de áreas com potencial ambiental, ou seja, de criar reservas de recursos naturais,
como forma de frear o possível esgotamento das matérias-primas, sem compro-
meter o desenvolvimento econômico dos países “centrais do poder”.
A introdução do elemento “natureza” nas negociações econômicas internacio-
nais tomou corpo com a publicação, em 1970, do Relatório denominado de “Os
Limites do Crescimento” ou “Relatório de Meadows”, produzido pelo Clube de
Roma207 com o objetivo de pensar o sistema global e encorajar novas atitudes,
entre os quais o combate à degradação ambiental. Nesse sentido o relatório elabo-
rado pelas empresas transnacionais (documento pensado por representantes das
Fundações da Volkswagen, da FIAT, da Ford, da Royal Dutch Shell, da Rockfeller
e outras) exigia, por exemplo, uma redução de 75% do consumo, na época, de
certas matérias-primas, e o controle do crescimento demográfico ao nível zero,
206 Citado por OLIVEIRA, 1987, p. 72.
207 O Clube de Roma foi uma organização fundada pelo industrial italiano e presidente do Comitê Econô-
mico da OTAN, Aurelio Peccei, em cerimônia na propriedade da família Rockfeller em Bellagio, Itália.
Aurélio Peccei era um consultor administrativo italiano (foi executivo da FIAT e da Olivetti) que esboçou
suas ideias ambientalistas na obra The Chasm Ahead, publicada em 1969. Fonte: OLIVEIRA, 2012.
miolo_geografia_UFF.indd 283 30/01/17 17:16
284 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
para evitar o colapso à economia dos países centrais (OLIVEIRA, 2012)208.
Em 1972, embalada pelo relatório “Os Limites do Crescimento”, foi promo-
vido pela ONU, em Estocolmo, Suécia, a Primeira Conferência Internacional
sobre o Homem e o Meio Ambiente, tornando-se uma referência para o mundo,
no tocante às novas posturas que o planeta deveria adotar para evitar o boom do
crescimento demográfico e a degradação dos recursos ambientais.
As ideias ambientalistas logo foram incorporadas pelo discurso dos gestores
públicos. O conjunto dessas ideias ambientalistas ganharam fôlego em 1987 com
a publicação do Relatório de Brundtland, ao redefinir as diretrizes necessárias
para se conjugar as condicionantes econômicas e ambientais, denominadas de
“desenvolvimento sustentável”, um postulado com aparência de um receituário
para os países se desenvolverem economicamente sem comprometer a manuten-
ção das futuras gerações.
As regras e as diretrizes desse novo contexto geopolítico, logo conduziram a
um acentuado crescimento de encontros e diálogos entre povos tradicionais e
ambientalistas, criando um novo cenário político de alianças interculturais. O
número de organizações não governamentais que se apropriaram das questões
ambientais aumentou significativamente, assumindo o papel de interlocutores
dos postulados do desenvolvimento sustentável, inclusive, mediadores de recursos
financeiros para a execução das políticas ambientalistas geradas pela racionalidade
hegemônica do mundo ocidental capitalista.
Progressivamente, o governo brasileiro veio a integrar-se aos foros internacio-
nais que operam com a “compatibilização” da proteção ambiental e do desenvol-
vimento econômico. A partir dessa macropolítica planetária estabelecida pelos
ambientalistas, as áreas indígenas passaram a ser pensadas como importantes uni-
dades de conservação e as populações que nelas habitam, os seus guardiões.
As décadas de 1980 e 1990 foram marcadas pela criação de áreas de proteção
ambiental e terras indígenas, tendo como exemplo no estado do Acre, o ponto de
convergência das políticas ambientais, sendo protagonizadas pela pressão política
da organização “Aliança dos Povos da Floresta”, que incorporou, estrategicamen-
te, a retórica do movimento ambientalista internacional (PIMENTA, 2007) na
tentativa de legitimar os seus direitos étnicos e territoriais.
As novas políticas do indigenismo oficial foram, aos poucos, tomando as fei-
ções comportamentais estabelecidas no campo de negociação dos agentes am-
208 Idem.
miolo_geografia_UFF.indd 284 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 285
bientalistas, seguido da implantação de um aparato jurídico (legislação ambien-
tal) e institucional, que gerou o fortalecendo do papel das autarquias e fundações,
como a Fundação Nacional do Índio – Funai e o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Renováveis – Ibama.
O Estado se habilitou na condução e no desenvolvimento de programas com
recursos, principalmente, da cooperação internacional. Assim, surgiu no âmbi-
to da Funai o Projeto Piloto de Proteção das Florestas Tropicais 196 no Brasil/
PPTAL e no âmbito do Ministério do Meio Ambiente – MMA, e mais tarde o
Programa de Desenvolvimento de Povos Indígenas – PDPI (OLIVEIRA; FREI-
RE, 2006).
Outro elemento fundamental para a racionalidade do indigenismo ambien-
tal, na arquitetura da colonialidade hegemônica, foi a formação e a organização
política dos movimentos sociais indígenas, que tiveram o seu auge organizativo
na década de 1970, e assumiram-se, estrategicamente, nas décadas posteriores,
como os mais adequados postulantes dos projetos com tendências ao “desen-
volvimento sustentável”.
A gênese do movimento indígena na interface do indigenismo missionário
O período da década de 1960 foi, também, bastante efervescente para a orga-
nização dos movimentos populares, visto que, do ponto de vista da capacitação
política, a Igreja Católica assumiu um novo papel fundamental nesse processo.
A Igreja Católica inicia uma postura distinta, em relação aos anos anteriores,
junto aos povos indígenas do Brasil, resultado da chamada “opção pelos pobres”,
lançado, em 1968, na II Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano
em Medellín (Colombia), seguindo as orientações do Concílio de Vaticano II
(1962-1965). O País neste período vivia o regime autoritário dos militares, o que,
também, levou a ala progressista da Igreja a se opor à opressão do Estado.
A “opção pelos pobres” representou para o movimento da Ação Católica Brasi-
leira (ACB) a afirmação das convicções da ala progressista, que buscava construir
uma síntese entre a fé e o compromisso social e político que critica as práticas go-
vernamentais assistencialistas, desenvolvimentistas, assimilacionistas, integralistas
por não levarem a uma mudança estrutural da sociedade. A perspectiva marxista
fará parte dos discursos e das práticas territoriais dessa ala progressista da Igreja.
O movimento da ACB, ao incorporar no seu discurso a visão dialética de socie-
dade, analisa a “pobreza” como causa da injustiça social e não como falta de capaci-
miolo_geografia_UFF.indd 285 30/01/17 17:16
286 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
dades individuais ou fatalismo da providência. Nesse sentido a categoria do “Pobre”
será portadora de sentidos sociais e políticos, como bem afirma Ruiz (1997):
categoria do “pobre” inclui não só o lugar ocupado nas relações de produção,
mas se amplia a outras variáveis como marginalizados sociais, culturas opri-
midas, etnias dominadas, relações de gênero, mulher marginalizada, crianças
abandonadas... (RUIZ, 1997, p. 43)
O efeito significativo da mudança de perspectiva política da Igreja Católica
progressista para com as classes oprimidas foi definitivo para o papel das Comu-
nidades Eclesiásticas de Base (CEB) e a sua reorientação sociopolítica em favor
dos “podres”. As CEBs, pautavam sua interpretação da realidade pela ótica do
marxismo, que é amparado no discurso teológico da Teologia da Libertação que
surge nos quadros médios da hierarquia católica.
Além da influência da Teologia da Libertação, as CEBs foram resultado de um
conjunto de acontecimentos que determinaram a sua formação e afirmação po-
lítica junto aos movimentos sociais (ZIBECHI, 2003) no Brasil. Já Ruiz (1997)
aponta pelo menos quatro indicativos para a criação das CEBs: 1. as duas posições
políticas de resistência da Igreja: a) ao comunismo por meio do Movimento de
Educação de Base (MEB) e Sindicalismo rural frente à Liga Camponesa (este fato
fez o Estado manter, até então, o seu forte vínculo com a Igreja conservadora) e
b) aos grupos neoprotestantes (COLBY; DENNETT, 1998), que se expandiram
fortemente desde a década de 1930; 2. a efetiva conquista de espaço pelas mu-
lheres dentro das igrejas (contribuiu fortemente para a expansão das CEBs); 3. as
mudanças na estrutura da Igreja (que “descentralizava” o poder da Igreja, criando
espaços institucionais com novas perspectivas políticas, sendo apoiadas por diver-
sos setores da hierarquia eclesiástica) e, por último, a conjuntura da ditadura mi-
litar, marcada pela violência física e simbólica, vindo a influenciar decisivamente
na posição política das CEBs.
Em 1972, a CNBB, entidade gerada pela ACB, a ala progressista da Igreja,
criou o Conselho Missionário Indigenista – CIMI, com a função de levar aos
indígenas a formação política e religiosa, além de organizá-los politicamente para
lutar pelos seus direitos sociais e territoriais. Nesse ínterim, as lideranças indíge-
nas ganham, gradativamente, projeção nacional, enquanto vão sendo assessora-
dos pelo CIMI no processo de institucionalização das representações políticas
miolo_geografia_UFF.indd 286 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 287
dos indígenas, para as quais o CIMI também contribuiu financeiramente para
a articulação de encontros regionais e nacional, proporcionando a realização das
assembleias indígenas.
O movimento social e político indígena, por definição, apresenta feições mui-
to próprias. Em primeiro lugar, tem a peculiaridade de, não obstante ter nascido
nas “áreas de fricção interétnica” ou nas “regiões de refúgio”, atuar, no entanto,
com maior eficácia nos centros metropolitanos (OLIVEIRA, 1988, p. 27). Em
segundo lugar, se organiza em escala inter-regional pela necessidade de manter
diálogo simultaneamente com as lideranças locais e regionais, extremamente dis-
persas no território nacional e com as diferentes instâncias do Estado (poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário).
As lideranças nacionais, nas décadas de 1980 e 1990, através do seu órgão
representativo, a União das Nações Indígenas (UNI), se sustentavam num equilí-
brio instável entre as demandas de seus liderados e o indispensável apoio da socie-
dade civil, e do suporte logístico e material dos seus aliados e parceiros não índios.
Em terceiro lugar, o movimento indígena conquistou esse apoio político e
financeiro durante as grandes tensões do período autoritário do regime militar
(período de 1964 a 1985), e para sua concretização tiveram a mobilização de
várias entidades: do Conselho Indígena Missionário – CIMI, da Organização dos
Advogados do Brasil, da Associação Brasileira de Antropologia – ABA e de orga-
nizações de apoio ao índio recém-surgidas, como a Comissão Pró-Índio de São
Paulo e de outros seguimentos da sociedade civil, estudantis, artistas, jornalistas e
cientistas a exemplo da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC.
Outras duas características assumidas pelo movimento indígena e que se asseme-
lham aos movimentos sociais populares são: a natureza voluntarista do movimento,
uma organização constituída numa espécie de “corpo a corpo” entre seus membros,
e a outra é o fortalecimento da autoidentidade grupal, tornando-a o núcleo simbó-
lico de aglutinamento dos participantes orgânicos do movimento social, sendo uma
referência inconfundível para os seus aliados (OLIVEIRA, 1988).
Em 1980, ano de criação da primeira organização nacional dos índios, a UNI
– União das Nações Indígenas, já contava com vários líderes de projeção nacio-
nal: Daniel Matenho, Álvaro Tukano, Mário Juruna, Ângelo Kretan, Marçal de
Souza. Domingos Veríssimo Terena, primeiro presidente da UNI; Marcos Terena,
Ailton Krenak. Entretanto, à medida que crescia o movimento surgiam também
divergências e iniciativas autônomas entre os índios. Xavante e Kayapó adotaram
miolo_geografia_UFF.indd 287 30/01/17 17:16
288 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
como prática de resistência a invasão da Funai e a pressão sobre burocratas para
atingir seus objetivos. A UNI passou a combater os anti-indígenas objetivados
em grandes projetos, como os de infraestrutura energética e os da mineração em
territórios indígenas.
Roberto Cardoso de Oliveira (1988) afirma que os acontecimentos de ordem
política, econômica e ambientalista na estrutura do Estado e da Igreja Católica
configuraram um conjunto de fatores fundamentais para a compreensão da ge-
nealogia da gênese do movimento indígena no Brasil, visto que a complexidade
de agentes e sujeitos que compuseram a arena de diversos interesses favoreceram,
em particular no cenário nacional, o fortalecimento relativo da imagem política
dos indígenas.
Os acontecimentos orquestrados pelos interesses dos agentes dominantes
foram sistematizados no Quadro 1 para ajudar a visualizar o processo de cris-
talização dos fatores gerados pela racionalidade colonial, inerentes à correlação
de forças entre os agentes hegemônicos ocidentais que favoreceram a gênese do
movimento indígena. O Quadro 1 também possibilita realizar uma análise con-
cêntrica e relacional de cada acontecimento no contexto relativo à vigência e à
preponderância entre os quatro tipos de indigenismo, observando que cada fato
não ocorre de forma isolada.
É importante salientar que no processo de negociação dos interesses
contraditórios entre os agentes dominantes, o indigenismo governamental, na
sua função política e burocrática, reordena e/ou normatiza os dispositivos (FOU-
CAULT, 2012; AGAMBEN, 2009) dos demais indigenismos dominantes. Nesse
jogo de poder, Foucault afirma que o dispositivo se refere a:
um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discurso, instituições,
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas adminis-
trativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas.
(FOUCAULT, 2012, p. 364)
Portanto, o indigenismo oficial apresentará feições de um ou outro agente
hegemônico de acordo com o poder simbólico e econômico (dispositivo) que cada
um souber acionar e articular estrategicamente no espaço-tempo e na correlação
de forças.
miolo_geografia_UFF.indd 288 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 289
Quadro 1: Acontecimentos rela vos a colonialidade do indigenismo Oficial, Indig. Empresarial, Indig. Ambientalista e do
Indig. Missionário na interface da gênese dos movimentos indígenas no Brasil, a par r do século XX.
1900 04 10 35 40 52 56196061 63 64 65 66 67 68 1970 72 73 74 75 79 1980 81 83 87 88 89 1990 92 96 2000
é criado o é extinto o Constituição Lei de Terras
SPI SPI Federal Indígenas
é criado o Dec.1.775
PARNA é criado a é criado o Art. 231
é criado a Reconhece a T.I.
Indigenismo Indíg. do
Xingu
FUNAI Estatuto
do Índio Política é criado o
Nac. do SNUC
Oficial Marcha para
Oeste - Golpe dos
Lei 6.001
M. A.
Conv. 169
OIT é criado o
assimilação e Militares é criado o MMA
colônias IBAMA
agrícolas
Plano Trienal de “Plano de é criado o
é criada a é lançado DES (63-65) e o III PND
Companhia Planos PAEG (64-66)
Integração
Estrada de Nacional” (79 a 85)
de Metas
Prog. Brasil em
Indigenismo Ferro Noroeste
do Brasil - é criado o Ação (96-99)
Operação é criado o para o
Empresarial
SP/MS II PND
Amazônia I PND Avança Brasil
(75 a 79) (2000-2007)
(72 a 74
ind. e infra-
estrut.)
Plano Pastoral
é criado é criado a de Conjunto é
no Brasil a CNBB aprovado pelo II Conf. Geral do é criado o Eleito 1º
Encontro
CIMI
Indigenismo ACB
CNBB Episcopado União das Deputado.
Nações Federal
dos 500
anos
Lat.Am. em Indígenas - Indígena
Missionário Carta Encíclica
Medellín
1ª Ass. dos
Povos UNI Mário Nasce a
COIAB
Cabrália/BA
Indígenas Jurunas
sobre a Paz Teologia da
dos Povos do Libertação
João P XXIII é criado a
R. Alves c/ o livro
«Da Libertação»
CPT
é criado a Conf. da
é criado o Lei de ONU_Homem
Código PNUMA:
Indigenismo
Conf. da ONU
proteção e M. Amb. /
Florestal Estocolmo Relatório de "Brudtland" RIO 92
da fauna
do Brasil
Ambiental "Nosso Futuro comum»
intensifica o nº de convenções Marcha e a
é criado o CR: Relatório internacionais em prol do Conferência
Clube de «Limites do discurso ambiental dos Povos e
Roma-CR Cresc.» Organizações
Rel. Meadows Indígenas
Legenda: IBAMA-Instituto Brasileiro do M. A. e dos Recursos PND- Plano Nacional de Desenvolvimento
ACB - Ação Católica Brasileira Renováveis PNUMA- Progama da Nações Unidas para o M.A.
CIMI- Conselho Indigenista Missionário M.A.- Meio Ambiente PTDES- Plano Trienal de Desenvol. Econômico e Social
CNBB- Conselho Nacional dos Bispos do Brasil MMA- Ministério do Meio Ambiente SNUC- Sistema Nac. de Unidades de Conservação
COIAB- Cons. das organiz. indíg. da Amaz. Brasileira OIT- Organização Internaciona do Trabalho SPI - serviço de Proteção ao Ìndio
CPT- Comissão Pastoral da Terra PAEG - Programa de Ação Econômica do Governo TI - Terra Indígena
FUNAI- Fundação Nacional do Índio PARNA - Parque Nacional UNI - União das Nações Indígenas
Fonte: Pesquisas preliminares no âmbito do doutoramento do autor, 2014. / Organização: M. V. da Costa Lima.
No Quadro 1, também é importante perceber a aproximação temporal-espa-
cial e a conexão política apresentada pelos fatos históricos, que, aparentemente
separados ou isolados por campos, foram construídos na correlação de forças he-
gemônicas (Global-Local) e que tiveram maior ou menor repercussão política nos
diferentes campos do indigenismo dominante, e que, por uma ou outra circuns-
tância, foram apropriadas, estrategicamente, com maior ou menor influência da
colonialidade hegemônica ocidental, pelo discurso dos movimentos indígenas.
O movimento indígena no horizonte do seu indigenismo alternativo
O esforço de tentar representar a realidade de um fenômeno social, em que
pese a necessidade de entender as práticas territoriais do movimento indígena,
enquanto estratégias na disputa da partilha do poder, foi importante articular um
conjunto de conceitos e técnicas para desenvolver uma metodologia que possibili-
tasse identificar, além dos agentes hegemônicos, as suas funções e os seus atributos
miolo_geografia_UFF.indd 289 30/01/17 17:16
290 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
de interesses contraditórios expostos, implícita ou explicitamente, no campo dos
conflitos políticos e territoriais que atravessaram, de certa maneira, a gênese e a
identidade do movimento indígena no Brasil.
A partir da reconstrução da gênese histórica do movimento indígena consta-
tou-se que os agentes da colonialidade ocidental hegemônica contribuíram, seja
na forma de aliados ou parceiros na e da construção identitária do movimento
indígena. As estratégias expressas pelas práticas territoriais de afirmação e resis-
tência do movimento indígena dialogam na correlação de forças em diferentes
campos do poder e em, pelo menos, três perspectivas de interesses contraditórios:
convergentes, divergentes e complementares.
A análise monolítica, unilateral, descontextualizada histórica e politicamen-
te sobre os interesses contraditórios dos agentes hegemônicos na interface das
ações de um coletivo indígena, pode levar o observador externo a interpretar
esta relação como uma resposta estritamente dada pelo controle ou dominação
e submissão dos grupos indígenas, obscurecendo, inclusive, as suas formas de
resistência cotidianas (SCOTT, 2002). As práticas territoriais indígenas são aqui
interpretadas e apropriadas como estratégias, e na definição de Robert Sack (2011,
p. 63-88), como forma de estabelecer a sua territorialidade.
Bourdieu (2007, p. 23-34) também assevera que para a construção e análise
do objeto de pesquisa é preciso pensar relacionalmente, como um dos princípios
da sua teoria de campos de poder, que reconhece, em termo de relações, a existên-
cia de agentes dominantes com as suas funções e atribuições, tal como as variáveis
que surgem na totalidade das relações de forças.
Para efeito de exemplo, foi elaborado o Quadro 2, que ilustra, preliminarmen-
te, as diferentes variáveis ou dispositivos, resultantes da correlação de forças entre
os agentes hegemônicos envolvidos na interface das práticas territoriais do mo-
vimento indígena, tendo o território, no seu sentido amplo e restrito do termo,
como o objeto de interesse contraditório e tangencial.
miolo_geografia_UFF.indd 290 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 291
Quadro 2 – Dispositivos resultantes na e da correlação de forças entre os
agentes hegemônicos na interface das práticas territoriais do movimento in-
dígena, tendo o território como objeto de interesse tangencial.
Movimento Indígena
Agentes
hegemôni- Objeto de interesse tangencial: Território
cos
Divergente Convergente Complementares
- Operam suas atividades - Reconhecem os direitos in- - Pautam suas lutas terri-
governamentais, deixando dígenas: a assistência social toriais nas leis voltadas à
instáveis os direitos inalie- (educação, saúde, previdência, categoria indígena (aparato
náveis dos territórios indí- segurança) mesmo no proces- judiciário).
genas. so que antecede a homologa-
- Violação de direitos a con- ção da TI. - Atraem programas de apoio
sulta prévia em prol de em- – TI “Protegida” pela Polícia e gestão da TI com financia-
ESTADO
preendimentos em TI. Federal. mento governamentais ge-
- Morosidade nas homolo- - Recebem assistência exclu- ridos pelas próprias associa-
gações e demarcações de TI. siva do seu órgão governa- ções Indígenas.
- Respondem às compensa- mental, Funai, no processo
ções legais com “Racismo de reconhecimento do seu - Atraem projetos de insti-
ambiental”. território. tuição de ensino e pesquisa
- Têm o Ministério Público sobre o território indígena.
em favor de suas causas jurí-
dicas
- Visam ocupar e explorar - Contribuem por meio de - Atraem incentivo público
efetivamente os recursos políticas ambientais e territo- e privado pela valorização
naturais e ambientais dos riais com investimentos finan- étnica, cultural e do/para
DESENVOLVIMENTISTA
territórios indígenas. ceiros em empreendimentos, território.
- Estabelecem diferentes gerenciados também por indí-
formas de exploração da genas (sist. de parceria). - Atraem incentivos a pes-
mão de obra indígena. - Recebem fomentos para pro- quisas científicas sobre as
- Pressionam o Poder Legis- jetos econômicos e assistência suas riquezas naturais e sabe-
lativo para a liberação das técnica nas aldeias. res tradicionais.
terras indígenas para explo- - Recebem capacitação profis-
ração econômica. sional e técnica em favor de - Agregam ideais da pers-
- Forçam a assimilação in- apropriação tecnológica, vi- pectiva do desenvolvimento
dígena pelo preconceito e o sando à produção econômica econômico e sustentável aos
etnocídio. e à segurança alimentar local. territórios indígenas.
- Visam a sua territorializa- - Contribuem para a forma- - Agregam valor político à
ção em relação à cosmologia ção intelectual e política das categoria “índio” no proces-
IG. CATÓLICA
indígena (xamã/pajelança). lideranças indígenas. so de organização social dos
- Estabelecem as suas prá- povos indígenas e no fortale-
ticas e os seus códigos sim- - Recebem apoio direto do cimento dos direitos identi-
bólicos (religiosidade cristã/ CIMI – entidade cristã vol- tários e territoriais.
missionária) nas interfaces tada exclusivamente para as - proporcionam espaços para
da cosmologia indígena. questões indígenas. a reflexão da semântica entre
“terra” e “território” indíge-
na.
miolo_geografia_UFF.indd 291 30/01/17 17:16
292 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
- Visam à criação de territó- - Ressignificam a categoria - Atraem políticas ambien-
rios com valor ambiental es- política do “índio”, valorizan- tais a partir de suas práticas
tratégicos e suas populações do-o como índio ecológico, tradicionais de conservação e
AMBIENTALISTA
tradicionais que respeitem guardião ou sentinela das flo- uso dos recursos naturais nos
as regras “ambientalistas”. restas (em unidades adminis- seus territórios.
- Estabelecem normas para trativas territoriais) Agregam valor ambiental
os marcos jurídicos (con- - Recebem apoio técnico e aos bens imateriais e terri-
venções) que regulamentam financeiro para a gestão am- toriais.
o uso dos recursos ambien- biental e territorial. - Fortalecem politicamente
tais às margens das práticas os direitos consuetudinários
locais. indígena pela categoria am-
biental.
Fonte: Pesquisas preliminares no âmbito do doutoramento do autor, 2014.
Organização: M. V. da Costa Lima.
As variáveis representam, na dinâmica correlacional, interesses contraditórios e
difusos que podem ser distinguidos por interesses “Divergentes” que geram, in-
dubitavelmente, conflitos nos campos político, cultural e econômico; os inte-
resses “Convergentes” corroboram, enquanto parceria solidária, a possibilidade
de (re)elaborar estratégias específicas para, conjuntamente ou não, angariarem
vantagens simbólicas e/ou materiais; e os “Complementares” que, por sua vez,
possuem elementos que fortalecem as estratégias globais, inerentes à rede de rela-
ções interétnicas e políticas.
À medida que o movimento indígena cresce no seu processo de autonomia
política, que se insere no jogo das correlações de forças, consolida na sua reali-
dade política e territorial as orientações e tendências da conjuntura sociopolítica
dominante. Ainda que determinada realidade indígena seja marcada pela hetero-
geneidade dos dispositivos de seus agentes hegemônicos, não significará que estes
dispositivos sejam aceitos na sua totalidade pelo coletivo indígena. Diga-se de pas-
sagem que entre as lideranças indígenas não se cultivará o consenso absoluto por
essas diretrizes, em função das suas contradições de origem política e ideológica,
mas oscilarão, estrategicamente, de acordo com a conveniência e aproximação de
lideranças indígenas em relação aos seus agentes antagônicos.
As características dos movimentos sociais, sistematizadas por Zibechi (ibi-
dem), ganham sentido à medida que compreendemos a concretude dos tipos de
indigenismo estabelecidos nas diferentes formas de relação entre as organizações
indígenas e os agentes da colonialidade hegemônica, pois estes dispositivos (diver-
gentes, convergentes e complementares) serão retroalimentados pelas experiên-
cias indígenas nos recorrentes campos de enfrentamentos políticos e terão maior
miolo_geografia_UFF.indd 292 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 293
ou menor influência no seu processo de re-elaboração de estratégias de autoafir-
mação étnica, de resistência e de territorialização indígena.
A partir da análise do Quadro 2, nota-se que, os dispositivos construídos e
conquistados na e da correlação de forças entre os agentes hegemônicos gerou,
do ponto de vista dos dispositivos convergentes e complementares, um capital
simbólico que transformou o “índio” numa categoria ambiental de disputa entre
os interesses antagônicos e contraditórios dos desenvolvimentistas e ambientalis-
tas, no entanto, na ressemantização do “índio”, do ponto de vista do território,
o indígena sai do indigenismo oficial enquanto guardião da fronteira para ser
reconhecido como guardião da floresta.
O Quadro 2 também nos provoca a reflexão, questionando em que medida o
movimento indígena tem se inserido nos tipos de indigenismos dos agentes hege-
mônicos, com autonomia política para propor um indigenismo alternativo, pen-
sado enquanto projeto endógeno à “territorialidade indígena”, ou ainda poderia se
afirmar que os movimentos indígenas brasileiro estaria ainda ladrilhando, em fun-
ção da sua situação de dependência tecnológica e econômica criada pelos seus par-
ceiros e aliados, bases epistêmicas e políticas para alcançar um repertório que lhes dê
condições de barganhar, no futuro, o seu espaço no poder, com a condição de tomar
decisões vitais frente aos interesses contraditórios dos seus agentes antagônicos.
Concluindo
Ao se analisar as práticas territoriais na busca de um possível indigenismo
alternativo, deve-se, contudo, submetê-las a uma intensa reflexão pelos próprios
movimentos indígenas, introduzindo preceitos, essencialmente etnopolíticos, que
garantam aos seus grupos identitários a efetivação plena do ser cidadão indígena.
Romper com os imperativos das regras do jogo hegemônico significa reela-
borar bases teóricas que submetam a agenda das políticas indigenistas aos pensa-
mentos epistemológicos dos povos subalternizados, a partir de um aporte teórico
da decolonialidade, que está sendo acentuada, principalmente pelos intelectuais
A. Quijano, W. Mignolo, I. Wallerstein, S. Castro-Gómez, R. Grosfoguel, E.
Lander, A. Escobar, N. Maldonado-Torres e C. Walsh. A conjugação da decolo-
nialidade com a cosmovisão dos povos do “sul” deve ser apropriada pelos movi-
mentos sociais indígenas, como parte de uma estratégia macropolítica, de caráter
endógeno, holístico e epistêmico, para encabeçar o seu processo de territorializa-
ção polinômico: étnico-territorial-local-global.
miolo_geografia_UFF.indd 293 30/01/17 17:16
294 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Introduzir, originariamente, práxis conceituais, ou melhor, Geo-grafias indí-
genas (PORTO-GONÇALVES, 2002) como contradiscursos nas arenas das po-
líticas dominantes, é um ato de resistência e de autoafirmação que deve obrigar os
agentes multilaterais envolvidos na trama hegemônica a implantarem um projeto,
reunidos de notórios saberes etnopolíticos que façam sentido na empreitada, já
iniciada, de fissurar o sistema-mundo ocidental capitalista (HOOLOWAY, 2013)
em prol de um “socialismo del buen vivir” (SOUSA SANTOS, 2015).
Assumir uma cosmologia indígena com perspectiva decolonial de poder, de
ser e do saber, submetida a multiplicidade política e territoriais indígenas, é ne-
cessário e emergencial para combater os interlocutores dos movimentos anti-in-
dígenas, desqualificando teórica e politicamente os seus discursos fisiológicos,
essencialistas e positivistas, presos ao reducionismo culturalista ocidental.
Portanto, a rápida passagem pela genealogia da gênese do movimento indíge-
na no Brasil deixa evidente que é de suma urgência e de fundamental importân-
cia os intelectuais e militantes indígenas fazerem uma autorreflexão sobre qual
racionalidade e Geo-graficidades se está (re)construindo e incorporando frente aos
empecilhos da colonialidade hegemônica que, impiedosamente, desafiam no co-
tidiano as práticas territoriais indígenas.
Referências
AGAMBEN, G. O que é o contemporâneo? Chapecó/SC: Argos, 2009.
______. Homo Sacer: O poder soberano e a vida nua. Trad. Henrique Burigo. 2.
ed. Belo Horizonte: UFMG, 2002.
BAINES, Stephen G. Imagens de liderança indígena e o Programa Waimiri-Atro-
ari: índios e usinas hidrelétricas na Amazônia. São Paulo. Revista de Antropologia,
USP, v. 43, n. 2, 2000.
BOURDIEU, P. Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense, 2004.
______. O poder simbólico. 11. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.
COLBY, G.; DENNETT, C. Seja feita a vossa vontade – a conquista da Amazô-
nia: Nelson Rockefeller e o evangelismo na idade do petróleo. Rio de Janeiro:
Record, 1998.
miolo_geografia_UFF.indd 294 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 295
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade: a vontade de saber. trad. Maria
Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. 19. ed. Rio de
Janeiro: Graal, 1988.
______. Microfísica do poder. 25. ed., Rio de Janeiro: Graal, 2012.
GROSFOGUEL, Ramón. Para descolonizar os estudos de economia política e os
estudos pós-coloniais: transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialida-
de global. In: SOUSA SANTOS, Boaventura; MENESES, Maria Paula (Orgs.).
Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez. 2010, p. 455-491.
HAESBAERT, R. Viver no limite: territórios e multi/transterritorialidade em
tempos de in-segurança e contenção. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014.
HOLLOWAY, John. Fissurar o capitalismo. São Paulo: Publisher, 2013.
MELUCCI, Alberto: A invenção do presente: movimentos sociais nas sociedades
complexas. Petrópoles/RJ: Vozes, 2001.
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. Amazônia: monopólio, expropriação e con-
flitos. Campinas: Papirus, 1987. p. 72.
OLIVEIRA, João Pacheco; FREIRE, Carlos Augusto R. A presença indígena na
formação do Brasil. Brasília: Ministério da Educação; LACED/Museu Nacional,
2006.
OLIVEIRA, Leandro Dias de. Os “limites do crescimento” 40 anos depois. Rio
de Janeiro. Revista Continentes (UFRRJ), ano 1, n. 1, 2012.
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. A crise do indigenismo. Campinas/SP: Editora
da Unicamp, 1988.
PIMENTA, José. Indigenismo e ambientalismo na Amazônia Ocidental. Revista
de Antropologia, v. 50, n. 2. São Paulo: USP, 2007.
PORTO-GONÇALVES, Carlos W. Da geografia às geo-grafias – um mundo em
busca de novas territorialidades. In: La guerra infinita: hegemonía y terror mun-
dial. Buenos Aires, Argentina. CLACSO. 2002.
______. A reinvenção dos territórios: a experiência latino-americana e caribenha.
In: CECEÑA, A. E. Los desafíos de las emancipaciones en un contexto militarizado.
Buenos Aires: CLACSO, 2006, p. 151-197.
miolo_geografia_UFF.indd 295 30/01/17 17:16
296 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
QUIJANO, Anibal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina.
In: LANDER, Edgardo (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências
sociais. Perspectivas latino-americanas. Colección Sur, CLACSO, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, Argentina. Setembro 2005. p. 227-278.
RUIZ, Castor M. B. A força transformadora social e simbólica das CEBs. Petrópo-
lis/RJ: Vozes, 1997.
SACK, Robert David. O significado de territorialidade. In: DIAS, Leila Christi-
na; FERRARI, Maristela (Orgs.). Territorialidades humanas e redes sociais. Floria-
nópolis: Insular, 2011.
SCOTT, J. Formas cotidianas da resistência camponesa. Campina Grande/PB.
Raízes Revista de Ciências Socias e Econômicas, n. 21, 2002.
SOUSA, Luiz A. G. A contraditória Igreja Católica nos anos de chumbo: apoio e
profecia. Disponível em http://www.cartamaior.com.br/?/Coluna/A-contradito-
ria-Igreja-Catolica-nos-anos-de-chumbo-apoio-e-profecia/31191. Acessado em:
8/5/2015.
SOUSA SANTOS, Boaventura de. El socialismo del buen vivir. Disponível em:
http://servicioskoinonia.org/agenda/archivo/obra.php?ncodigo=759. Acessado
em 29/5/2015.
ZIBECHI, Raul: Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desa-
fios. In: Osal, CLACSO, Buenos Aires, n. 9, enero de 2003
miolo_geografia_UFF.indd 296 30/01/17 17:16
IV – REPRESENTAÇÕES E IMAGINÁRIOS
GEOGRÁFICOS (DES)COLONIAIS
miolo_geografia_UFF.indd 297 30/01/17 17:16
miolo_geografia_UFF.indd 298 30/01/17 17:16
Horizonte geográfico do imaginário
moderno-colonial e as representações
espaciais da Amazônia209
Edir Augusto Dias Pereira
Introdução
A Amazônia constitui um espaço de exuberantes imagens e representações,
por vezes grandiosas e eloquentes. A fauna e a flora imagética e de representações
da Amazônia apresentam uma diversidade ainda não catalogada ou inventariada.
Com efeito, são muitas as suas espécies e complexas as suas evoluções, mutações
e simbioses. Essa Amazônia imaginária não é tão somente um vasto compósito
de visões ou perspectivas, conjunto de imagens e ideias produzidas sobre e a partir
da Amazônia. Mas diz respeito à constituição do imaginário social amazônico,
constituem as “significações sociais imaginárias” (CASTORIADIS, 1982) que se
foram criando e acumulando, tecendo e entrelaçando-se no decorrer do processo
histórico de constituição do espaço geográfico amazônico.
Entre outros, dois grandes fluxos de representações, atualmente, convergem e
se sobrepõem, se cruzam e se confrontam em várias formas de discursos: um que
carrega as muitas águas de imagens de uma Natureza monumental e mítica, dos
povos indígenas e dos caboclos exóticos; e outro, que corre em imagens esplendo-
rosas da modernização galopante e das mazelas assombrosas do “progresso”. Mas,
de fato, estas duas correntes de produção de imagens e representações são apenas a
superfície do profundo, caudaloso e turbulento leito do magma das significações
imaginárias, apenas dois extremos de um regime de representação (HALL, 1997;
209 Texto baseado na Dissertação de Mestrado (2008): As representações espaciais no ensaísmo brasileiro de expres-
são amazônica.
miolo_geografia_UFF.indd 299 30/01/17 17:16
300 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
2003; SILVA, 2003) em que se produzem e circulam as significações do imagi-
nário social da Amazônia: o imaginário moderno-colonial (MIGNOLO, 2005).
Portanto, o imaginário e as representações da Amazônia configuram um mag-
ma de significações e um mapa de conflitos discursivos, desde as linhas das frontei-
ras abertas a ferro e fogo pela modernização até as margens dos rios sedimentadas
em um longo processo de territorialização de vários grupos sociais, descrevendo
uma história e uma geografia de tensões, disputas e negociações de significados,
recursos e espaços. O imaginário e as representações da Amazônia inscrevem-se,
desse modo, no processo e nas práticas sociais e territoriais de constituição do
espaço geográfico amazônico e das suas significações imaginárias.
1. Nos meandros do imaginário geográfico amazônico
O imaginário é, tem, existe.
(ESTAMIRA, 2007)
O domínio do imaginário amazônico, ou da criação imaginária da Amazônia,
é um vasto território de confrontos e disputas, desde os primeiros tempos da
conquista colonial. A Amazônia é uma invenção imaginária (GONDIM, 1994),
constituída no horizonte do imaginário moderno-colonial ocidental e eurocêntri-
co (MIGNOLO, 2005), instituído e instituinte de significações sociais (CASTO-
RIADIS, 1982) e espaciais. No entanto, de várias maneiras tem se interpretado e
compreendido a configuração desse imaginário amazônico. A definição do imagi-
nário amazônico, geralmente, configura-se em três linhas dominantes:
a) O imaginário amazônico como uma especificidade cultural da sociedade cons-
tituída ao longo de um processo histórico em que se deu a hibridização de três
matrizes culturais: indígena, portuguesa e negra afro-brasileira (depois, vindo
a somar-se a nordestina), das quais toma seus elementos, manifestos em forma
de mitos, lendas, costumes e ritos, saberes e práticas “tradicionais”, hábitos e
modos de vida do homem amazônico – cujo tipo específico é o caboclo – in-
tegrado aos ecossistemas regionais, principalmente em função dos rios e das
florestas, e também por produtos artísticos e artesanais, típicos da região. O
imaginário seria sinônimo ou expressão de uma “cultura amazônica” regional
– material e simbólica (LOUREIRO, 1995; RIBEIRO, 2006);
miolo_geografia_UFF.indd 300 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 301
b) O imaginário amazônico como um conjunto de imagens ou representações
da Amazônia construídas a partir da visão, visões e versões dos colonizadores,
cronistas, viajantes, naturalistas, religiosos, funcionários do Estado colonial e
literatos, principalmente europeus, em contato e confronto com as diferenças
do espaço, das sociedades e das culturas conquistadas e colonizadas, construin-
do uma série de estereótipos e estigmas, que continuam ativos e atualizados
em muitas formas de discursos sobre a região (BUENO, 2002; GONDIM,
1994; PIMENTA, 2003; 2007; PIZARRO, 2012);
c) O imaginário amazônico como um conjunto de imagens ideológicas, prin-
cipalmente, construídas a partir de um olhar de fora da região, em vista de
encobrir problemas e conflitos reais, a realidade amazônica, servindo como
justificativas para ações dos agentes dominantes da política, da economia e da
cultura. O imaginário em relação à Amazônia se define em certos discursos
como abstração, ideias e imagens que conformam um discurso intencional,
sistemático e interessando sobre ou a partir da região. O imaginário amazô-
nico, nesse sentido, está próximo das ideologias, por um lado, e das repre-
sentações subjetivas de sujeitos, instituições, campos de produção do saber
ou grupos distintos, e por outro lado, numa acepção de ilusão, fábula, mitos
intencionais (BECKER, 2004; BUENO, 2002; LOUREIRO, 2002)210.
O que há em comum entre essas concepções diferentes de imaginário amazôni-
co é uma concepção de imaginário como um reservatório ou repertório fixo e está-
vel de imagens e representações. Nessa acepção o imaginário amazônico é sempre o
instituído (o produto, o resultado, o realizado), apagando-se a natureza instituinte
das significações sociais (CASTORIADIS, 1982) e mais do que isso: a “geopolítica
do conhecimento” (DUSSEL, 1992; MIGNOLO, 2003) e a “colonialidade do
saber” (LANDER, 2005; MIGNOLO, 2003; 2005; QUIJANO, 2005; 2010) que
envolvem a construção imaginária do espaço geográfico amazônico.
Além da noção implícita do imaginário como produto ou resultado, há uma
aceitação por parte dessas abordagens em geral da ideia de região, como se a
Amazônia sempre tivesse sido uma região, ou como se tivesse se formado geo-
210 Há outras leituras sobre a construção de imagens e representações da Amazônia que não se encaixam
necessariamente nessas modalidades de abordagens, com a de Porto-Gonçalves (2001), Souza (2001) e de
Dutra (2005), a partir dos quais construímos em parte a noção de imaginário amazônico aqui proposta.
miolo_geografia_UFF.indd 301 30/01/17 17:16
302 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
graficamente como região, seja como um conceito de base – para uma cultural
regional, uma identidade regional, uma geografia regional etc. –, seja como uma
base territorial – da qual se descolam e deslocam as imagens e representações –,
seja, a priori, como uma escala discursiva – que se produz através de imagens
e representações. Aceita-se como não problemática a ideia de que a Amazônia
constitui uma “região”, discutindo-se, apenas, como pode ser melhor definida ou
compreendida. O trabalho de Silva (2004) demonstra como historicamente se
constituiu o “imaginário da região” em conformação e contraposição ao “imagi-
nário da nação”, ou seja, como a Amazônia enquanto uma região é uma invenção
geopolítica datada da construção da nação e nacionalidade brasileira.
Nessa tentativa de abordar, analisar, interpretar e definir o imaginário ama-
zônico há algumas recorrências ou reiterações discursivas. As imagens e repre-
sentações da Amazônia são apresentadas como sinônimos, inclusive como si-
nônimo de imaginário. Em geral são indistinguíveis, e aparecem como imagem
de ou representação de, ou seja, dá-se a entender que a Amazônia é um dado
concreto, realidade anterior e exterior às imagens e representações que são exte-
rior e posteriormente construídas sobre esta. Há, nesse sentido, uma distinção e
contraposição entre imagens produzidas sobre a Amazônia (de fora) e imagens
produzidas da ou a partir da Amazônia (de dentro) (PIZARRO, 2012; POR-
TO-GONÇALVES, 2001), às vezes de forma dicotômica. Como para Bueno
(2002, p. 2), com base no esquema do endógeno e do exógeno utilizado por
Becker (2004): “Existem dois principais níveis de construção da representa-
ção sobre a Amazônia, o exógeno, estruturado pelos discursos estruturados
externamente, e o endógeno, elaborado pelos protagonistas que vivem na re-
gião”. Pizarro (2012, p. 31) inclusive coloca isso como uma característica da
“região”: “A Amazônia é uma região cujo traço mais geral é o de ter sido cons-
truída por um pensamento externo a ela”.
Assim, as imagens e representações de “fora” formariam, em geral, um discur-
so ideológico, baseado em preconceitos e estereótipos e as imagens e representa-
ções de “dentro” expressariam as perspectivas de sujeitos “locais” ou “regionais”
diversos, a partir de suas vivências amazônicas. Outra ideia bastante difundida é
da Amazônia como espaço de diversidade, heterogeneidade, pluralidade ou mul-
tiplicidade em todos os aspectos: ecológicos, sociais, culturais, étnicos, discursivos
etc. O que nos levaria a considerar a Amazônia não como uma unidade uniforme
ou homogênea, mas como uma multiplicidade. Haveria, assim, várias Amazônias
miolo_geografia_UFF.indd 302 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 303
(PORTO-GONÇALVES, 2001), tanto quanto são suas representações ou ima-
gens construídas sobre esta.
Eidorfe Moreira (1982) já utilizava Amazônia no plural, em dois sentidos:
para se referir à migração massiva de nordestino para a região do Acre, “uma
verdadeira extrapolação nordestina na Amazônia”, sendo que “Essa extrapolação
do Nordeste dera margem a duas Amazônias, a nativa ou cabocla e a nordestina”
(MOREIRA, 1982, p. 30); e para se referir à Amazônia tal qual representada
por escritores, como os ensaístas e literatos. Nas obras desses autores sentia-se
muitas vezes “uma representação falseada da realidade: as suas ‘Amazônias’ nem
sempre são estereótipos ou retratos naturais, mas ‘Amazônias’ prefiguradas por
certo padrões convencionais” (MOREIRA, 1989, p. 6). Portanto, “Não veem
propriamente aí uma situação econômica ou realidade social, mas antes um tipo
convencional de homem carenciado, projetado invariavelmente na paisagem em
condições dramáticas” (MOREIRA, 1982, p. 7).
Reconhecer, no entanto, que a Amazônia é diversa e múltipla não dá conta de
algumas questões relativas aos sistemas de representação hegemônicos e as lutas de
representações, que envolvem a própria definição da região (BOURDIEU, 2003).
Não é preciso apenas relativizamos as visões e imagens que queiram se apresentar
como a verdade sobre a região, como também é preciso considerarmos suas inser-
ções em redes de relações sociais e políticas, seus efeitos concretos e desiguais de
saber e de poder, principalmente em termos territoriais. Como enfatiza Mignolo
(2009, p. 187): “Lo que está en juego son las políticas de representar y de cons-
truir lugares de enunciación, más que la diversidad de representaciones resultan-
tes de locaciones diferenciales al contar historias o construir teorías”.
As imagens e representações de “dentro” ou de “fora” podem fazer parte de um
mesmo modo de representar a Amazônia ou reafirmar os dispositivos de poder/
saber e de subjetivação do regime de representação moderno-colonial. Compre-
ender a Amazônia como diversidade pode, ainda, aceitar o recorte e enunciado
regional como pressuposto (natural-espacial e/ou histórico-social). Por isso, se
compreendermos a Amazônia como um lócus de enunciação diferencial (MIG-
NOLO, 2003) na constituição de regimes de representação, podemos apreender
os conflitos e as tensões entre sistemas de representações espaciais que criam e
disputam suas significações imaginárias, recursos e espaços concretos.
O imaginário amazônico é indissociável da produção geográfica e epistêmica
do espaço e dos sujeitos da Amazônia e seus territórios, culturas, linguagens, sabe-
miolo_geografia_UFF.indd 303 30/01/17 17:16
304 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
res etc., constituindo-se por representações espaciais que conformam um regime
discursivo específico. Uma primeira e indispensável aproximação para adentrar
nesse labirinto do imaginário geográfico amazônico, para pisarmos nesse terreno
bastante escorregadio e movediço do imaginário em relação ao espaço amazônico,
é entender, como propõe Castoriadis (1982), que o imaginário é fundamental-
mente criação de significações sociais e, acrescentamos, espaciais. As significações
imaginárias sociais são criação do coletivo social anônimo que define um mundo
(um espaço), as coisas que nele se encontram, as relações dessas coisas entre si e
com os indivíduos que habitam este mundo.
Portanto, quando falamos de imaginário não estamos somente considerando-
-o na acepção de conjunto de imagens produzidas sobre e da Amazônia, pois isso
nos remete às oposições ou reduções que é preciso evitar, como entre o real e o
imaginado, o falso e o verdadeiro, o exterior e o interior, o moderno e o tradicio-
nal, o nacional e o regional. De certo, o imaginário amazônico envolve e constitui
imagens e representações, localizadas e incorporadas, como também antagonis-
mos envolvendo a produção e a circulação das significações sociais instituídas e
instituintes da Amazônia.
Por isso, as representações, mais que simples imagens e ideias do espaço ama-
zônico, não constituem um mundo paralelo e abstrato, pairando sobre a realida-
de do espaço amazônico ou num limbo de puras abstrações, mas são produções
constitutivas das espacialidades reunidas sobre o enunciado Amazônia e constitu-
tivas das práticas e relações que constituem o espaço geográfico amazônico, me-
lhor dizendo, são criações do imaginário social. A noção da invenção imaginária
da Amazônia, como uma construção imaginária originária e original do olhar
e da narrativa colonial, aparece explicitamente em Gondim (1994, p. 79): “Os
expedicionários reencontram e sequenciam o imaginário dos antigos viajantes
cujas histórias sobre fortunas incríveis (...) estão sempre presentes na invenção da
Amazônia”. E também em Pizarro (2012, p. 21) quando afirma que os conquista-
dores espanhóis e portugueses chegaram “com uma ‘mochila’ carregada de figura-
ções provenientes de diversos momentos históricos da Antiguidade greco-latina”
e transplantaram estas para a Amazônia em seus relatos.
Não podemos negar que as representações coloniais da Amazônia sofreram
constantes atualizações ou reiterações a partir desse legado de imagens coloniais,
como ressalta Dutra (2005). Mas não podemos simplesmente dizer que “A Ama-
zônia é o mistério inventado pelos europeus” (GONDIM, 1994, p. 128) ou sim-
miolo_geografia_UFF.indd 304 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 305
plesmente uma “construção discursiva” ou “comunidade imaginária” (PIZARRO,
2012, p. 33). Pois, nesse caso, o imaginário estaria reduzido a um conjunto de
imagens inicialmente forjadas pelos europeus, a partir de sua “bagagem cultural”,
que em diversos momentos e por diferentes discursos e meios são retomadas e re-
formuladas – mesmo os que se pretendiam científicos – para inventar o que hoje
entendemos por Amazônia.
A Amazônia é tal como hoje a percebemos desde seu descobrimento pelos
olhos do homem ocidental, a história dos discursos que construíram, em di-
ferentes momentos históricos e dos quais recebemos uma informação parcial,
que permite fundamental identificar o discurso dos europeus sobre ela (PI-
ZARRO, 2012, p. 33).
Esse estoque ou repertório de imagens coloniais e colonizadoras, do que seria
mais tarde denominado Amazônia, não pode se confundir com a criação imaginá-
ria da Amazônia, ou seja, com a instituição de significações pelo imaginário social e
nem também esquecer o sentido geopolítico do imaginário (MIGNOLO, 2005).
Mignolo (2005, p. 71) situa historicamente “uma mudança radical no imagi-
nário e nas estruturas de poder do mundo moderno-colonial” com a emergência
do “hemisfério ocidental”. Mignolo afirma empregar o conceito de imaginário no
sentido que lhe confere Édouard Glissant.
Para Glissant “o imaginário” é a construção simbólica mediante a qual uma
comunidade (racial, nacional, imperial, sexual etc.) se define a si mesma. Em
Glissant, o termo não tem nem a acepção comum de uma imagem mental, nem
o sentido mais técnico que adquire no discurso analítico contemporâneo, no
qual o imaginário forma uma estrutura de diferenciação com o Simbólico e o
Real. Partindo de Glissant, dou ao termo um sentido geopolítico e o emprego na
fundação e formação do imaginário do sistema-mundo moderno-colonial (MIG-
NOLO, 2005, p. 71, grifos nossos).
O imaginário é uma construção simbólica da identidade de um sujeito cole-
tivo (uma comunidade): as imagens que este dá a si mesmo, pelas quais se define
(como uma comunidade). Por isso, o imaginário tem um sentido geopolítico. O
mundo moderno-colonial funda e forma um imaginário. Pode-se perceber que
miolo_geografia_UFF.indd 305 30/01/17 17:16
306 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
com essa abordagem explicita-se uma relação entre o poder e o espaço que se
expressa em termos de imaginário. A construção simbólica da imagem (ou das
imagens) que nos define está marcada por relações geopolíticas.
O predomínio e a recorrência às imagens forjadas pelo “olhar moderno-colo-
nial” sobre a Amazônia (CRUZ, 2006) não significa que a constituição do imagi-
nário se dá numa via de mão única e nem que simplesmente se reproduzam histo-
ricamente os mesmos significados construídos pelos discursos dos colonizadores.
Cruz (2006) define vários modos de representação das populações denomina-
das “tradicionais” da Amazônia, representações geográficas, a partir da metáfora do
olhar. Diferentes “olhares” sobre essas populações e a própria Amazônia vão de um
extremo ao outro: da construção do estereótipo que conduz a um processo de estig-
matização cultural – ou mesmo à invisibilidade de tais populações, lugares e conhe-
cimentos – à idealização romântica e idílica do chamado “caboclo amazônida”, ide-
alização também da Natureza, do indígena, da cultura e das práticas socioespaciais.
Cruz (2006; 2011) enumera três modos dominantes de representar a diferença
sociocultural das populações amazônicas: o olhar naturalista, o olhar romântico/
tradicionalista e o olhar moderno-colonial. E também identifica a emergência de
um “olhar da subalternidade” (na verdade, “olhares” da subalternidade). No nosso
entender, tanto o olhar naturalista como o romântico/tradicionalista são variações e
reiterações das significações imaginárias moderno-coloniais que vêm se desdobrando
desde a conquista e constituem o que estamos denominando de regime de repre-
sentação moderno-colonial da Amazônia. E os diferentes olhares da subalternidade
constituem o imaginário descolonial subalterno da Amazônia, constituem a emer-
gência de um regime de representação espacial descolonial da Amazônia.
Esses “olhares” da Amazônia – e o próprio termo olhar é significativo do sistema
de representação que os preside, em que predomina realmente o olhar, a visão, a
visualidade, o que Mignolo (2005b) denomina de “epistemologia de promontório”
–, ou sobre a diferença colonial espaçotemporal amazônica, principalmente os cons-
titutivos do sistema de representação do imaginário moderno-colonial mobilizam
e realizam-se através das cinco lógicas de produção de não existência, definidas por
Sousa Santos (2002; 2006), da alteridade geo-histórica e sociocultural amazônica.
A primeira diz respeito à monocultura do saber, que reduz a diferença socioes-
pacial amazônica à ignorância ou à incultura, pelos critérios únicos de verdade e
qualidade estética definidos pela ciência e pela alta cultura moderna eurocêntrica
(SOUSA SANTOS, 2002, p. 12), incluindo aí também o papel de legitimação da
miolo_geografia_UFF.indd 306 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 307
filosofia ocidental e da religião cristã. Também se produz a inexistência da diferença
do espaço amazônico pela monocultura do tempo linear, a ideia de que a história
tem sentido e direção únicos e conhecidos. Assim, a Amazônia e os amazônidas são
marcados pelo signo do primitivo, do tradicional, do pré-moderno, do simples, do
obsoleto, do atrasado, do subdesenvolvido (SOUSA SANTOS, 2002, p. 13).
Além dessa temos a lógica da classificação social, assentada na monocultura da
naturalização das diferenças, na qual a não existência amazônica é produzida sob
a forma de inferioridade insuperável porque natural (SOUSA SANTOS, 2002, p.
13). Desse modo é que são vistos os diferentes povos e grupos sociais amazônidas,
desde os relatos dos viajantes, naturalistas, administradores coloniais, religiosos,
literatos, passando pelos ensaios, pelas ciências sociais e os discursos atuais da mí-
dia e do Estado. Assim como a lógica da escala dominante, que produz o local (ou a
própria categoria regional); e a lógica da produtividade, assentada na monocultura
dos critérios de produtividade capitalista, que cria o improdutivo, o indolente
(SOUSA SANTOS, 2002, p. 14), forma dominante em que são lidos os povos
amazônicos, desde a conquista aos tempos atuais.
Segundo Cruz (2006) o olhar moderno-colonialista sob a diferença amazônica
é pautado no estereótipo do “caboclo” e no estereótipo do espaço exótico e do es-
paço vazio. É uma forma de olhar as populações amazônidas “assentada num con-
junto de representações marcadas por preconceitos e estigmas sociais e culturais
que justificam uma visão moderno-colonial e racista dessas populações” (CRUZ,
2006, p. 16). Essa forma de representação conjuga todas as formas de produção
da não existência – como faz notar Cruz, apesar de se referir diretamente só à mo-
nocultura do tempo linear, mas ao fim fica explícito que este olhar articula todas
as lógicas e inclusive os outros dois modos de olhar dominantes.
Portanto, a partir desse olhar colonial-moderno gestado e formado desde a
conquista e com o processo de colonização, o olhar naturalista e o olhar romântico/
tradiconalista estão implicados, pois, o olhar naturalista que ver a Amazônia com
natureza também verá os povos amazônicos como parte da natureza, desde os cro-
nistas coloniais até os discursos mais atuais da biodiversidade (DUTRA, 2005).
Assim, a noção do espaço vazio, tributária do imaginário colonial dos sertões, que
advém dessa forma de representação (olhar) hegemônica, produz a invisibilidade
dos “outros” amazônidas, não só pela ênfase na natureza, mas por tomá-los como
“naturais”, nativos, selvagens; o espaço é vazio, mas vazio de populações civiliza-
das, modernas ou desenvolvidas.
miolo_geografia_UFF.indd 307 30/01/17 17:16
308 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Maldonado-Torres (2010) explica que o discurso da modernidade esconde
a importância do espaço (colonial) na construção da modernidade, sendo que
aqueles que adotam esse discurso tendem a adotar uma perspectiva universalista,
apagando a importância da localização geopolítica (MALDONADO-TORRES,
2010, p. 411). A modernidade se fundamenta no “mito difusionista do vazio”
(BLAUT, 1993), ou seja, isso implica que:
(i) Uma região não europeia encontra-se vazia ou praticamente desabitada de
gente (razão pela qual a fixação de colonos europeus não implica qualquer des-
locação de povos nativos)”. (ii) A região não possui uma população fixa: os
habitantes caracterizam-se pela mobilidade, pelo nomadismo, pela errância (e,
por isso, a fixação europeia não viola nenhuma soberania política, uma vez que
os nómadas não reclamam para si território). (iii) as culturas dessa região não
possuem um entendimento do que seja a propriedade privada – quer dizer, a
região desconhece quaisquer direitos e pretensões à propriedade (daí os ocupan-
tes coloniais poderem dar terras livremente aos colonos, já que ninguém é dono
delas). (BLAUT, 1993, p. 15, apud MALDONADO-TORRES, 2010, p. 411).
Por isso, os povos desse espaço vazio são considerados “selvagens” (da selva)
ou “povos da floresta”, categorias homogeneizadoras que dissolvem ou traduzem
a diferença social na diversidade natural (DUTRA, 2005). Podemos dizer que
o olhar naturalista lê os homens e as diferenças socioculturais pelo espaço, pela
naturalização do espaço-tempo amazônico. Esses olhares, portanto, revelam uma
relação entre localizações epistemológicas (as representações espaciais, no caso) e
localizações geográficas, o lócus de enunciação (MIGNOLO, 2005b).
Porto-Gonçalves (2001, p. 12), ao se referir às imagens amazônicas, observa
que são as imagens sobre a região que prevalecem e não da região, ou seja, ima-
gens produzidas de “fora”, externamente, que se tornaram as hegemônicas, e as
de dentro, dos próprios amazônidas, principalmente os sujeitos subalternos, fo-
ram e são muitas vezes silenciadas, apagadas ou subjugadas, mesmo nas ciências
sociais. Porém, é preciso reconhecer que as significações não se fixam, os signifi-
cados estão sempre sendo disputados (HALL, 2003). Ainda que nesse processo
de construção de imagens significados sejam instituídos ou fixados, não o são de
uma vez por todas, pois essas imagens dizem respeito às significações que não se
prendem a um jogo unilateral de produção de imagens de dentro e de fora. Mas
Porto-Gonçalves (2001) não compreende esses lugares da fala (produção de ima-
miolo_geografia_UFF.indd 308 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 309
gens) como exterioridades absolutas, e sim como posições geopolíticas, sociais e
de poder, reconhece que: “Há um debate e um embate, simbólico-material, que
reconstrói o significado de Amazônia. Não há uma Amazônia, mas várias. Não há,
consequentemente, uma visão verdadeira do que seja a Amazônia.” (PORTO-
-GONÇALVES, 2001, p. 16, itálicos do autor).
Os diversos sujeitos sociais elaboram uma visão e uma versão do que seja a
Amazônia, sendo que “tentam propor/impor a sua visão do que seja a verdade da
região como sendo a verdade da região. Esse jogo de verdade é parte do jogo de po-
der que se trava na e sobre ela” (PORTO-GONÇALVES, 2001, p. 17). Esse é um
aspecto importante a considerar nesse jogo de poder entre as imagens de dentro e
de fora: as imagens se inscrevem, constituem relações de poder em que os sujeitos
estrategicamente se posicionam, estabelecem seu lugar de fala. Nesse sentido, um
regime de representação dominante, um “regime de verdade”211, acaba se consti-
tuindo. A distinção dentro e fora não se refere simplesmente aos locais de ponto de
vista, mas deve ser entendido como lócus de enunciação (MIGNOLO, 2003), de
direção e movimento do olhar (da representação) e localização da fala, marcando
posições desiguais de sujeitos de enunciados, posicionados num determinado cam-
po de forças, pois o discurso regional é um caso particular de lutas simbólicas em
que estão em jogo as relações de força (BOURDIEU, 2003, p. 124).
Trata-se, sobretudo, de produção/criação de significados sociais aos espaços
amazônicos, e nesse processo interior e exterior não têm uma relação de mera
oposição ou de absoluta exclusão. É assim que para Mignolo (2005, p. 72), refe-
rindo-se à constituição do imaginário colonial/moderno: “A imagem que temos
hoje da civilização ocidental é, por um lado, um longo processo de construção
do ‘interior’ desse imaginário, desde a transição do Mediterrâneo, como centro,
à formação do circuito comercial do Atlântico, assim também como de sua ‘exte-
rioridade’”. Assim, também, poderíamos dizer que as imagens que temos hoje da
Amazônia foram constituídas, a partir da colonização e ao longo do processo de
sua formação territorial, de “dentro” do imaginário ocidental (moderno) ao mes-
mo tempo de sua “exterioridade” (colonial), mas não necessariamente de um fora:
essa imagem de dentro sempre esteve acompanhada de um “exterior interno” – a
211 Foucault (2001, p. 13) reconhece que há um combate “pela verdade” ou, ao menos, “em torno da verda-
de”, ou seja, da hegemonia da definição válida, legítima, é nesse sentido que podemos falar de regime de
representação (HALL, 1997, 2003; SILVA, 2003) como um “regime de verdade”, que estabelece o conjunto
das regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeitos específicos
de poder (FOUCAULT, 2001).
miolo_geografia_UFF.indd 309 30/01/17 17:16
310 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
exterioridade, e essas imagens de fora de um “interior externo” – a interioridade
(MIGNOLO, 2005). Na instituição imaginária da sociedade o imaginário encer-
ra o exterior no interior constituindo-se como uma interioridade, um “dentro que
seria apenas pregas e dobras do fora” (DELEUZE, 2005, p. 105).
Queremos com isso nos contrapor àquela concepção de que o imaginário
amazônico se forma tão somente numa via de mão única: da Europa em direção
ao Novo Mundo, a partir do olhar, da ação e imaginação dos colonizadores, ou
numa relação de visões unidirecionais de sujeitos sociais de dentro e de fora, da
região e de outras regiões do Brasil ou de outras nações. Em geral, parece que o
repertório de imagens e ideias, conceitos e preconceitos que os europeus carrega-
vam e formavam, e somente estes, constituem a matéria-prima da formação desse
imaginário no contato – antes de tudo violento – com as populações e os meios
geográficos amazônicos. Assim:
[...] a visão inaugural da Amazônia inventada pelos cronistas viajantes vai fun-
damentar, enquanto matéria-prima, as deduções teóricas e, inversamente, estas
servem de estofo aos sucessores, cujo estoque de informações impede e/ou
inibe a apreensão da variedade, da multiplicidade, da diferença, em suma, cai
na cegueira da confirmação de verdades científicas (GONDIM, 1994, p. 10).
No entanto, temos que reconhecer as reiterações ou regularidade de imagens
dos discursos colonial-modernos sobre a Amazônia, e a hegemonia de suas re-
presentações, “a historicidade dos relatos, o imaginário que transforma e reitera
os elementos constitutivos de discursos posicionados ideologicamente e que são,
no presente, recuperados de modos eficazes” (DUTRA, 2005, p. 15). Bem como
temos que reconhecer as descontinuidades, as assimetrias de poder, as diferentes e
efetivas possibilidades dos sujeitos sociais envolvidos nesse processo de influência
mútua, de deslocar, disputar e determinar as representações válidas, legítimas ou
verdadeiras. Desse modo:
[...] o imaginário de que falo não é apenas constituído no e pelo discurso co-
lonial, incluídas suas diferenças internas [...], mas é constituído também pelas
respostas (ou em certos momentos a falta delas) das comunidades (impérios,
religiões, civilizações) que o imaginário ocidental envolveu em sua própria au-
todescrição (MIGNOLO, 2005, p. 89).
miolo_geografia_UFF.indd 310 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 311
Estabelecemos, então, que o imaginário não diz respeito simplesmente a um
repertório ou repositório de imagens ou significados, o imaginário como um
grande museu, uma coleção ou constelação de imagens, uma “bacia semântica”,
como propõe Durand (2001), mas também, seguindo a definição de Castoriadis
(1982), não é o “fictício” ou invenção pura. Nesse sentido de fictício, ou de in-
venção fantasiosa, é muito comum encontrarmos o emprego do termo imaginá-
rio, que se confunde também com uma representação “ideológica” – no sentido
de deturpação, encobrimento, falseamento, ilusão.
O imaginário moderno-colonial amazônico é um “imaginário derivado”, nes-
se sentido, que não retém o “magma de significações” do “imaginário central” da
sociedade que produz outras significações imaginárias212. No entender de Becker
(2005) muitas imagens sobre a Amazônia atuam como instrumentos de legiti-
mação e conservação da ordem estabelecida, impedindo o questionamento das
realidades e verdades instituídas, do espaço instituído. Becker (2005, p. 23, gri-
fos nossos) reconhece que perduram imagens “obsoletas” da região, verdadeiros
mitos: “Não apenas os mitos tradicionais da terra exótica e dos espaços vazios,
mas também mitos recentes que obscurecem a realidade regional e dificultam a
elaboração de políticas públicas adequadas ao seu desenvolvimento”, como novas
mitologias elaboradas inclusive “cientificamente”. Assim, esse conjunto de ima-
gens apresenta-se no sentido de ideologia, imagens enganosas.
Loureiro (2002, p. 108) entende que desde o processo colonizador foi inaugu-
rado um ciclo de mitos e fantasias sobre a Amazônia gerados pela visão dos de fora.
Um dos mais persistentes tem sido, segundo a autora, o mito da superabundância e
da resistência da natureza da região. Com isso, o olhar viajante, dos de fora da região,
também desde o início gerou um ciclo de preconceitos, uma visão distorcida sobre
o homem e sobre a região (LOUREIRO, 2002, p. 109). Além de mitos e precon-
ceitos coloniais, ao longo do tempo outras distorções e equívocos caracterizam as
imagens produzidas sobre a região ao longo dos séculos. Assim, o estereótipo de fato
é uma das formas mais comuns de representação da alteridade (BHABHA, 1998;
SILVA, 2003) socioespacial da Amazônia; bem como a ideologia tem se imposto nas
imagens e representações dominantes, fixando sentidos à região213.
212 Segundo a distinção de Castoriadis (1982, p. 161), entre o imaginário como derivado, ou efetivo, e o
imaginário central ou radical de uma sociedade.
213 Segundo Bhabha (1998, p. 105-106), a força da ideologia está na fixação do significado, a do estereótipo
está na ambivalência e na repetição.
miolo_geografia_UFF.indd 311 30/01/17 17:16
312 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Mas, esse tipo de imagem produzida pelo estereótipo e pela ideologia é uma
forma secundária de imaginário. Afastemo-nos dessa forma reduzida e redutora
de conceber o imaginário como oposto ao real, como figuração que visa resol-
ver em termos imaginários problemas, contradições e conflitos reais. Em relação
à Amazônia, não designando o imaginário como simplesmente as formas pelas
quais os problemas e conflitos “reais” da região se apresentam como imagens fan-
tasiosas ou fictícias. Ao falarmos de “imaginário amazônico” estamos nos refe-
rindo ao imaginário central do mundo colonial-moderno, no horizonte do qual
se produz e se define o imaginário amazônico, ou as significações imaginárias da
Amazônia. As imagens do imaginário em relação à Amazônia envolvem, primeira
e fundamentalmente, a criação imaginária de significados, os quais não podemos
restringir ao fictício e fantasioso, ou à verdade e à falsidade sobre a região.
2. Nas dobras das representações espaciais
Uma vez mais a representação se torna significativa,
não apenas como um dilema acadêmico
ou teórico, mas como escolha política.
(SAID, 2002, p. 135).
As representações espaciais da Amazônia não dizem respeito apenas à repre-
sentação cartográfica e paisagística, ainda que constituam a cartografia discursi-
va do espaço amazônico e configurem paisagens. As representações espaciais da
Amazônia constituem os três movimentos/momentos de produção do espaço,
segundo Lefebvre (1993; 2000): a representação do espaço (concebido), o espaço
das representações (vivido) e as práticas espaciais (percebido).
As representações do espaço (concebido) hegemônicas e hegemonizadas se con-
trapõem e se impõem, muitas vezes, ao espaço das representações (vivido) dos ama-
zônidas em razão de sua vinculação ao imaginário moderno-colonial, ou seja, por
constituírem um regime de representação espacial ocidental, colonial, capitalista, pa-
triarcal norteurocêntrico (GROSFOGUEL, 2010). Isso explica por que muitos au-
tores, artistas, cientistas, políticos etc. de origem e vivência amazônica re-produzem
representações do espaço amazônico moderno-coloniais em seus discursos e práticas.
As representações do espaço amazônico, em geral, constituem o mesmo regi-
me de representação espacial da América (PIZARRO, 2012), constituído desde
miolo_geografia_UFF.indd 312 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 313
1492, elaborado pelos relatos dos conquistadores, desde os diários de Cristóvão
Colombo (TODOROV, 1993). Mas apresentam alguns traços específicos desde
o período colonial (PIZARRO, 2012). As representações dos colonizadores se
impuseram na forma de textos, mapas, pinturas, desenhos etc. Se impuseram não
apenas para naturalistas, cientistas, literatos, viajantes de fora da “região”, como
também aos próprios amazônidas.
São estas representações espaciais dos colonizadores que ao longo do tempo,
durante os cinco séculos que se seguiram à conquista, foram retomadas, reformu-
ladas, ratificadas, desdobradas e por vezes confirmadas, contestadas ou relativiza-
das. E vieram assim a constituir referências fundamentais para todos aqueles que
buscaram conhecer, compreender, dominar, controlar e explorar seus recursos,
espaços e povos. São estas que também se encontram, de certo modo, reinscritas
nos discursos oficiais hegemônicos sobre a Amazônia, produzidos a partir do Es-
tado brasileiro e nos discursos “regionalistas” amazônicos em suas várias vertentes
e matizes. Não são exatamente os termos, as formas e os conteúdos dos discursos
coloniais que são retomados e atualizados, mas os dispositivos de poder, poder/
saber e de subjetivação, seu modo de operar, sua lógica, seus pressupostos epis-
temológicos, marcados pelos que Mignolo (2010) denominou de “retórica da
modernidade” e “lógica da colonialidade”.
Acontece também que há algum tempo, alguns amazônidas e não amazôni-
das identificados e envolvidos com a “região” também têm construído narrativas,
discursos, representações, imagens, figurações da Amazônia (PIZARRO, 2012)
que apontam para a construção de uma “gramática da descolonialidade” (MIG-
NOLO, 2010), através de representações espaciais outras da Amazônia. Estas
representações espaciais da Amazônia são vinculadas a práticas descoloniais, ou
apontam para uma tendência a um “giro descolonial” (GROSFOGUEL; MIG-
NOLO, 2008) nas representações espaciais da região.
Na Amazônia, como em diversas colônias estabelecidas por europeus na
América, o processo de construção do imaginário e de representações espaciais
envolveu uma disputa dos espaços por colonizadores de várias nacionalidades
europeias, disputas entre religiosos, particularmente os jesuítas, os colonos e os
administradores coloniais, representantes da Coroa Portuguesa e também de seus
interesses particulares. Estas “lutas de representações”214 também envolveram a
214 As lutas das representações constituem e apresentam-se como: “[...] lutas das classificações, lutas pelo mo-
nopólio de fazer ver e fazer crer, de dar a conhecer e de fazer reconhecer, de impor a definição legítima das
miolo_geografia_UFF.indd 313 30/01/17 17:16
314 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
contínua resistência indígena e dos negros escravizado trazidos da África, bem
como dos caboclos ribeirinhos que foram se constituindo como um grupo social
distinto, a partir de meados do século XVIII na região. Após a Independência
do Brasil, e com a valorização comercial da borracha no exterior e sua intensiva
exploração na Amazônia, outras formas de representações espaciais começam a se
constituir e disseminar.
Desde meados do século XX, o Estado brasileiro apresenta-se como o principal
agente responsável pela rearticulação, atualização e ratificação dos dispositivos das
representações espaciais moderno-coloniais da Amazônia. A colonialidade do saber
das representações espaciais da Amazônia não é simplesmente uma reprodução das
representações espaciais coloniais, trata-se muito mais de reapropriação, atualiza-
ção, transformação e ratificação dos dispositivos moderno-coloniais de poder/saber
e de subjetivação. Estes dispositivos discursivos coloniais continuam operando de
maneira central no regime de representação espacial moderno-colonial da Ama-
zônia, mas com uma especificidade: uma parte da “elite intelectual” da Amazônia
passou a atuar ativamente na constituição de representações espaciais da “região”215,
constituindo um novo regime, que podemos chamar de moderno-desenvolvimentista
nacional-regional, moderno-colonial eurocêntrico e sudestecêntrico216.
Esta participação ativa de intelectuais da Amazônia na produção de repre-
sentações espaciais da Amazônia, através de textos jornalísticos, ensaios, ficção
literária, discursos políticos, estudos científicos etc., traz à tona o vivido. O espaço
vivido amazônico passa a figurar de modo tenso, trágico, contraditório e ambiva-
lente com as representações do espaço (o concebido) da Amazônia já instituídas,
desde o discurso colonial. Bueno (2002), ao tratar das representações da Ama-
zônia, expõe de certo modo essa problemática. A maioria das pessoas que vivem
na Amazônia não se reconhece como amazônidas, não se identifica com o termo
Amazônia, pois a denominação Amazônia não faz parte do cotidiano dos ama-
zônidas, mas “somente alguns grupos, particularmente uma elite intelectual, tem
esse sentimento de pertencimento e afeição em relação à região” (BUENO, 2002,
divisões do mundo social e, por este meio, de fazer e de desfazer os grupos” (BOURDIEU, 2003, p. 113).
215 A Amazônia como região passa a ser um lócus de enunciação e um dispositivo de poder/saber privilegiado
das novas formas de discursivas utilizadas por esses sujeitos.
216 A esse respeito escreve Porto-Gonçalves (2005, p. 10), que nos sugeriu o termo: “No Brasil, há o nordes-
tino, o sulista e o nortista, mas não há o sudestino, nem o centro-oestista. Afinal, o Sudeste é o centro e,
como tal, não é parte. É o todo!”.
miolo_geografia_UFF.indd 314 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 315
p. 18). Quanto a estes, observa Bueno (2002, p. 30): “Seu sentimento de perten-
cimento à Amazônia não é apenas racional e conceitual, mas também simbólico,
no qual não deixam de estar envolvidas emoções”.
A maioria dos discursos formulados por amazônidas, em particular pela elite
intelectual da região, não chegou a romper definitivamente com as representações
espaciais moderno-coloniais da Amazônia, mas introduziu representações pró-
prias do espaço vivido que não fazem eco ou reproduzem integralmente os discur-
sos coloniais, mas tensionam com esse regime de representação hegemônico. As
representações espaciais da Amazônia, da maioria desses intelectuais da região, se
instalam no discurso estatal após a década de 1960, justificam e/ou celebram suas
práticas modernizadoras e desenvolvimentistas, principalmente através do refor-
ço de dispositivos moderno-coloniais de representação colonial da Amazônia: a
noção de espaço vazio, atualizado pela definição da Amazônia como fronteira; a
noção de integração, reforçando a ideia de distanciamento e isolamento da Ama-
zônia em relação ao restante do País; a noção de atraso (subdesenvolvimento) e de
espaço desconhecido, mas repleto de riquezas naturais a serem exploradas.
Através dessa nova articulação dos dispositivos discursos coloniais e da moder-
nização desenvolvimentista da Amazônia, se faz ver de que modo representações
do espaço, espaço de representação e práticas espaciais do imaginário moderno-
-colonial se articulam com a colonialidade do poder, com a colonialidade do sa-
ber e com a colonialidade do ser (QUIJANO, 2005, 2010; CASTRO-GÓMEZ,
2005; MALDONADO-TORRES, 2010; LANDER, 2005), na produção do es-
paço geográfico amazônico. Não temos apenas a emergência de uma pluralidade
de discursos sobre a região (PIZARRO, 2012), ou melhor, uma pluralidade de
representações espaciais da Amazônia, a partir da década de 1960, temos a insti-
tuição de um novo regime de representação espacial da Amazônia, que se articula
e em parte se distingue e se opõe às representações espaciais construídas por uma
diversidade de sujeitos amazônidas subalternizados, posicionados de modo desi-
gual em relações de poder, em geral representações espaciais que apontam para
tendências de um “giro descolonial” nas representações da Amazônia, ou seja,
operam na “gramática da descolonialidade” (MIGNOLO, 2010).
A pluralidade de representações espaciais da Amazônia se configura na in-
tensificação de “luta de representações” entre regimes de representações espaciais
constitutivos de diferentes representações do espaço, espaço de representações e
práticas espaciais de sujeitos posicionado de maneira assimétrica no campo de
miolo_geografia_UFF.indd 315 30/01/17 17:16
316 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
relações de forças regionais, nacionais e globais, protagonistas e antagonistas nas
lutas pelos significados e espaços da Amazônia.
Considerações finais
A Amazônia é um espaço estratégico geopoliticamente importante, no Brasil
e no mundo. Sua posição atual nesse cenário geopolítico de colonialidade global
recoloca a importância do imaginário e das representações espaciais que se tecem
sobre ela. Compreender, assim, que o imaginário moderno-colonial constitui um
regime de representação espacial da Amazônia, inclusive como uma “região ge-
ográfica”, importa para o enfrentamento da retórica da modernidade e da lógica
da colonialidade que permeiam as representações do espaço e as práticas espaciais
na Amazônia de diferentes sujeitos. E muito mais ainda importa valorizar e/ou
avaliar os efeitos produtivos e positivos da constituição de representações espaciais
da Amazônia que se inscrevem na gramática da descolonialidade, ou seja, que têm
contribuído para a produção de um giro descolonial no regime de representação
espacial da Amazônia, a partir da emergência de olhares e vozes, de representações
e do imaginário de agentes sociais subalternizados.
A luta política, epistêmica e territorial pela desconstrução e superação da mo-
dernidade/colonialidade no mundo passa pela desconstrução e supressão do ima-
ginário moderno-colonial e seu regime de representações espaciais. A Amazônia
constitui um espaço e um operador estratégico nessas lutas descoloniais, não ape-
nas como um enunciado, mas como um lócus de enunciação privilegiado para
construção de novos significados e novas práticas socioespaciais de produção de
outros espaços geográficos no mundo.
Referências
ALBUQUERQUE Jr., D. M. de. A invenção do Nordeste e outras artes. 2. ed. São
Paulo: Cortez, 2001.
BECKER, B. K. Amazônia: geopolítica na virada do III milênio. Rio de Janeiro:
Garamond, 2004.
BHABHA, H. O local da cultura. Belo Horizonte: UFMG, 1998.
BOURDIEU, P. O poder simbólico. 6. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
BUENO, M. F. O imaginário brasileiro sobre a Amazônia: uma leitura por meio
miolo_geografia_UFF.indd 316 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 317
dos discursos dos viajantes, do Estado, dos livros didáticos de Geografia e da mí-
dia impressa. 2002. 197f. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana), Uni-
versidade de São Paulo, São Paulo, 2002.
CASTRO-GÓMEZ, S. La poscolonialidad explicada a los niños. Colômbia: Edito-
ra Universidade da Cauca, 2005.
CASTORIADIS, C. A instituição imaginária da sociedade. 5. ed. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1982.
CRUZ, V. do C. Pela outra margem da fronteira: território, identidade e lutas
sociais na Amazônia. 2006. 201f. Dissertação (Mestrado em Geografia), Univer-
sidade Federal Fluminense, Niterói, 2006.
DELEUZE, G. Foucault. São Paulo: Brasiliense, 2005.
DURAND, G. As estruturas antropológicas do imaginário: introdução à arquetipo-
logia geral. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
DUTRA, M. S. A natureza da TV: uma leitura dos discursos da mídia sobre a
Amazônia, biodiversidade, povos da floresta... Belém: NAEA (UFPA), 2005.
FOUCAUT, M. Microfísica do poder. 16. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2001.
_____. A ordem do discurso. 6. ed. São Paulo: Edições Loyola, 2000.
GONDIM, N. A invenção da Amazônia. São Paulo: Marco Zero, 1994.
GROSFOGUEL, R. Para descolonizar os estudos de economia política e os estu-
dos pós-coloniais: transmodernidade, pensamento fronteira e colonialidade glo-
bal. In: SOUSA SANTOS, B. de; MENESES, M. P. Epistemologias do Sul. São
Paulo: Cortez, 2010, p. 455-491.
GROSFOGUEL, R.; MIGNOLO, W. D. Intervenciones descoloniales: una bre-
ve introducción. In: Tabula Rasa, Bogotá – Colômbia, n. 9, p. 29-37, julio-di-
ciembre, 2008.
HALL, S. Representation, meaning and language. In: HALL, S. (ed. by). Repre-
sentation: cultural representations and signifying practices. London: SAGE Publi-
cations, 1997.
_____. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: UFMG,
2003.
miolo_geografia_UFF.indd 317 30/01/17 17:16
318 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
LANDER, E. Ciências sociais: saberes coloniais e eurocêntricos. In: LANDER,
E. (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais latino-ameri-
canas. Buenos Aires: CLACSO, 2005.
LE GOFF, J. O imaginário medieval. Lisboa: Estampa, 1994.
LEFEBVRE, H. La presencia y la ausencia: contribución a la teoría de las repre-
sentaciones. México: Fondo de cultura económica, 1983.
_____. La production de l’espace. 4ª éd. Paris: Éditions Anthropos, 2000.
LIMA, I. G. de.; LIMONAD, E. Entre a ordem próxima e a ordem distante:
contribuições a partir da obra de Henri Lefebvre. In: LIMONAD, E. (Org.).
Entre a ordem próxima e a ordem distante: contribuições a partir do pensamento
de Henri Lefebvre. PPGEO, Programa de Pós-Graduação em Geografia, UFF,
Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro: 2003. Disponível em: <http://
www.uff.br/posgeo/ester.pdf>.
LOUREIRO, J. de J. P. Cultura amazônica: uma poética do imaginário. Belém,
CEJUP, 1995.
LOUREIRO, V. R. Amazônia: uma história de perdas e danos, um futuro a (re)
construir. In: Estudos avançados, São Paulo, vol. 16, nº 45, mai/ago., 2002, p.
107-121. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S0103-40142002000200008>.
MALDONADO-TORRES, N. A topologia do ser e geopolítica do conhecimen-
to. Modernidade, império e colonialidade. In: SANTOS, B. de S.; MENESES,
M. P. Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010, p. 396-443.
MIGNOLO, W. D. Desobediencia epistémica: retórica de la modernidad, lógica
de la colonialidad y la gramática de la descolonialidad. Buenos Aires – Argentina:
Ediciones del Signo, 2010.
______. El lado más oscuro del Renacimiento. In: Red de Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal, Universitas Humanística, Pontificia
Universidad Javeriana, Colômbia, n. 67, enero-junio, 2009, p. 165-203.
______. La opción de-colonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto y un
caso. In: Tabula Rasa, Bogotá – Colômbia, n. 8, p. 243-281, enero-junio, 2008.
miolo_geografia_UFF.indd 318 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 319
______. Espacios geográficos y localizaciones epistemológicas: la ratio entre la
localización geográfica y la subalternización de conocimientos. In: GEOgraphia,
Niterói-RJ, ano 7, n. 13, 2005a, p. 7-28
______. Histórias locais / projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pen-
samento liminar. Belo Horizonte: UFMG, 2003.
______. A colonialidade de cabo a rabo: o hemisfério ocidental no horizonte
conceitual da modernidade. In: LANDER, E. (Org.). A colonialidade do saber:
eurocentrismo e ciências. Buenos Aires: CLACSO, 2005b, p. 71-103.
MOREIRA, E. Amazônia: o conceito e a paisagem. Obras reunidas de Eidorfe
Moreira. Belém: CEJUP, 1989 (vol. I).
_____. Influências amazônicas no Nordeste: reflexões da fase áurea da borracha.
Belém: UFPA/NAEA, 1982.
PRADO, M. (Dir.). Estamira. (Doc). Rio de Janeiro: Europa Filmes: 2007.
PIMENTA, J. O “amazonismo” ou o lugar dos povos indígenas na historiografia acre-
ana. Disponível em: <http://eduardoeginacarli.blogspot.com/2007/04/o-amazo-
nismo-ou-o-lugar-dos-povos.html, acesso: outubro, 2007.
______. A história oculta da floresta imaginário, conquista e povos indígenas
no Acre. In: Revue Linguagens Amazônicas, n. 2, p. 27-44, 2003. Disponível
em: <http://ambienteacreano.blogspot.com/2006/05/histria-do-acre-evoluo-da-
-questo.html>, acesso: outubro de 2007.
PORTO-GONÇALVES, C. W. Amazônia, Amazônias. São Paulo: Contexto,
2001.
______. Apresentação da edição em português. In: LANDER, E. (Org.). A colo-
nialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-america-
nas. Argentina: CLACSO, 2005.
QUIJANO, A. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In:
LANDER, E. (Org.). A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais.
Perspectivas latino-americanas. Argentina: CLACSO, 2005, p. 227-278.
______. Colonialidade do poder e classificação social. In: SANTOS. B. de S.;
MENESES, M. P. Epistemologias do Sul. São Paulo: Cortez, 2010, p. 84-130.
miolo_geografia_UFF.indd 319 30/01/17 17:16
320 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
RIBEIRO, D. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo:
Companhia das Letras, 2006.
SAID, W. E. Reflexões sobre o exílio e outros ensaios. São Paulo: Companhia das
Letras, 2002.
SILVA, T. T. da. O currículo como fetiche: a poética e política do texto curricular.
2ª reimp. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
SILVA, M. C. da. O Paiz do Amazonas. Manaus: Valer, 2004.
SOUZA, M. Breve história da Amazônia: incrível história de uma região ameaça-
da contada com o apaixonado conhecimento de causa de um nativo. 2. ed. Rio
de Janeiro: Agir, 2001.
SOUSA SANTOS, B. de. A gramática do tempo: para uma nova cultura política.
São Paulo: Cortez, 2006.
______. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência. São
Paulo: Cortez, 2002.
TODOROV, T. A conquista da América: a questão do outro. São Paulo: Martins
Fontes, 1993.
miolo_geografia_UFF.indd 320 30/01/17 17:16
Região, colonialidade e subdesenvolvimento
Mateus de Moraes Servilha
O conceito de região
A região, enquanto um conceito acadêmico, esteve/está presente na vida e na pro-
dução da Geografia, percorrendo uma trajetória epistemológica cujo surgimento se
inicia concomitantemente com o início do pensamento geográfico enquanto conhe-
cimento científico moderno. A região esteve/está no cerne da produção geográfica,
muitas vezes vista como seu tema e objeto central, outras como um conceito a ser supe-
rado217. O que define a região? Sabemos ser esta uma pergunta com muitas respostas.
Relação entre a parte e o todo, o particular e o geral, o singular e o universal, o
idiográfico e o nomotético ou, em outros termos, num enfoque mais empírico,
entre o central e o periférico, o moderno-cosmopolita e o tradicional provin-
ciano, o global e o local... são muitas as relações passíveis de serem trabalhadas
por trás daquilo que comumente denominamos questão ou abordagem “regio-
nal”. (HAESBAERT, 2010, p. 9)
O debate acerca do conceito de região está presente em diversas áreas do saber,
podendo ser abordado de diferentes, certas vezes complementares, formas. No
que tange às perspectivas geográficas, o conceito de região historicamente se rela-
ciona principalmente à compreensão acerca das diferenciações entre áreas, partes
diferenciadas de um todo do espaço geográfico.
A compreensão acerca dos processos que delimitam fronteiras no espaço nos
obriga à análise de semelhanças e diferenças, segundo duas questões, entendidas
aqui como centrais.
217 Sobre o tema recomendamos a leitura de Haesbaert (2010).
miolo_geografia_UFF.indd 321 30/01/17 17:16
322 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
1. Semelhanças e diferenças são categorias carregadas de subjetividade, cujas de-
limitações não podem prescindir do olhar de um observador. Independen-
te do método utilizado para encontrarmos diferenças e semelhanças e, por
conseguinte, delimitarmos as partes de um todo, diferentes pontos de vista
produzirão diferentes regiões. Hartshorne, para muitos o principal difusor do
conceito de diferenciação de áreas na geografia, nos aponta que, nesse caso,
“similaridade não é oposto de ‘diferença’, mas uma simples generalização na
qual as diferenças consideradas de menor relevância são postas de lado, e real-
çadas as que forem julgadas de maior importância” (1978, p. 18).
2. Não podemos compreender identidades, sem, simultaneamente, ou por ve-
zes anteriormente, analisarmos alteridades. Não podemos compreender uma
parte do todo sem analisarmos outras partes do mesmo e, em muitos casos, o
mesmo. Isso nos exige, ao buscarmos a compreensão de uma área no espaço
geográfico, uma análise multiescalar, em outras palavras, um olhar “para além
da região” que buscamos delimitar, caracterizar e/ou conhecer. Segundo La
Blache, o primeiro geógrafo a produzir um saber epistemológico dentro de
uma perspectiva regional na Geografia, “é preciso ir mais longe e reconhecer
que nenhuma parte da Terra possui em si mesma a sua explicação. O jogo das
condições locais só se descobre com alguma clareza à medida que a observação
se eleva acima delas” (apud BAULIG, 1982, p. 70).
Para debatermos uma região, faz-se necessária uma análise que não se limite
a “fronteiras regionais” já estabelecidas. Cabe-nos analisar uma região, uma parte
do espaço geográfico, que, ao se diferenciar e/ou ser diferenciada, se revelou re-
sultado da ação de atores socioespaciais determinados, assim como de arranjos e
contextos socioculturais e políticos específicos. Cabe-nos uma análise histórica
acerca da genealogia da produção regional, não nos sendo suficiente, entretanto,
uma simples aproximação com a chamada “História Regional”, tendo em vista
que esta, de certa forma, naturalizou, assim como muitos estudos geográficos, as
chamadas “fronteiras regionais”. Segundo Albuquerque Júnior (2012, p. 1),
como é comum, no discurso historiográfico, quando se trata de pensar espaços,
a região aparece como um dado da realidade que não precisa ser em si mesmo
pensado ou problematizado, não precisa ser tratado historicamente. A região
aparece como um dado prévio, como um recorte espacial naturalizado, a-his-
tórico, como um referente identitário que existiria per si, ora como um recorte
miolo_geografia_UFF.indd 322 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 323
dado pela natureza, ora como um dado recorte político-administrativo, ora
como um recorte cultural, mas que parece não ser fruto de um dado processo
histórico. A história ocorreria na região, mas não existiria história da região. A
história da região seria o que teria acontecido no interior de seus limites, não a
história da constituição destes limites.
Atento para os riscos teórico-metodológicos da naturalização de fronteiras
regionais. Uma região, segundo Bourdieu, é o produto de representações e pro-
cessos sociais que a instituíram/instituem enquanto um recorte da realidade. O
conceito de região poderia ser compreendido, portanto, segundo tal leitura, en-
quanto uma “di-visão”.
O princípio de “di-visão”, para Bourdieu (1983), está relacionado aos instru-
mentos usados por agentes e grupos para, simultaneamente, dividir (recortar o
espaço) e produzir categorias de interpretação da realidade através de “regimes de
classificação”(“visão”). Categorias mentais de percepção participam, segundo essa
teoria, das, concomitantes, interpretação e produção do mundo social.
Tratar-se-ia o foco desse trabalho de um debate acerca de arranjos econômi-
cos regionais? Ou talvez de uma análise de dados estatísticos que nos possibili-
tem revelar condições socioeconômicas regionais? Ou quem sabe uma reflexão
acerca das possibilidades de uma região segundo diferentes modelos (existentes
e possíveis) de desenvolvimento regional? Reflexões aqui apontam para outros
caminhos; para outras possibilidades interpretativas acerca do conceito de região.
A longa trajetória do conceito de região, em especial na produção do saber
geográfico científico moderno, nos apontou historicamente para diversas possi-
bilidades interpretativas. Análises “descritivas-paisagísticas-regionais”, marcada-
mente presentes na chamada “Geografia Tradicional”, assim como a delimitação
e a interpretação de regiões a partir de critérios quantitativos, presentes na chama-
da “Geografia Teorético-Quantitativa”, ou ainda a interpretação da diferenciação
do espaço (“regionalização do espaço”) enquanto produto direto das relações de
produção capitalistas (em especial, a partir do processo de “divisão territorial do
trabalho”), presentes na chamada “Geografia Crítica”, ainda são de enorme valia
para a compreensão dos processos de produção/organização/ordenamento do es-
paço contemporâneo.
Opto, entretanto, pelo enfrentamento ao conceito de região a partir de sua im-
portância e função histórica enquanto instrumento de controle e integração territo-
miolo_geografia_UFF.indd 323 30/01/17 17:16
324 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
rial a partir de práticas estatais de colonialidade, buscando nesse trabalho uma aná-
lise conceitual que permita reflexões acerca das relações entre região/regionalização,
colonialidade/descolonialidade e desenvolvimento/subdesenvolvimento.
A colonialidade do saber: sobre o “outro”
“As águas do descobrimento ainda hoje
não se aquietam, nem mesmo
na mais estável de todas as areias.”
(Gerd Bornheim)
Unidade socioespacial, seja esta nacional ou regional, pressupõe a necessidade
de dois processos concomitantes: 1. integração/coesão territorial; e 2. identidade/
sentimento de pertencimento coletivo. Ambos, processos complexos, imersos em
conflitos e relações de poder. Nações são invenções da humanidade, sentimentos e
formas de organização/interação coletiva produtos de processos sociais. “O nacio-
nalismo não é o despertar das nações para a autoconsciência: ele inventa as nações
onde elas não existem” (ANDERSON, 2008, p. 32). Como nos alerta o autor, o
nacionalismo visto pelos olhares historiográficos se diferencia significativamente
dos olhos nacionalistas. Se os primeiros se atentam para a “modernidade objetiva
das nações”, os segundos enfocam a sua “antiguidade subjetiva”.
Segundo Haesbaert e Porto-Gonçalves (2006, p. 13),
fomos habituados a pensar e sentir o mundo como se fosse natural a existência de
uma determinada geografia com países, fronteiras e relações. Entretanto, essa for-
ma de organização do espaço geográfico em Estados, com suas fronteiras territoriais
nítidas e reconhecidas, está longe de ser um produto “natural”. Ao contrário, trata-
-se de uma invenção histórica europeia que, depois, se generalizou para o mundo
como parte do colonialismo e do imperialismo, enfim, como parte da constituição
de um grande sistema estatal, o “sistema-mundo moderno-colonial”.218
218 Segundo os mesmos autores, “podemos superar a visão eurocêntrica de mundo sem que a substituamos
por uma centrada no outro polo, o colonial, e sem que permaneçamos prisioneiros da mesmo polaridade (a
Europa e...o resto). O que (...) sustentamos é que não há um polo ativo, a Europa, e outro passivo e mera
vítima da história, que é o lado colonial. É preciso superar esta visão de um protagonismo exclusivo dos
europeus e tomar os diferentes povos e lugares como constitutivos do mundo” (HAESBAERT; PORTO-
-GONÇALVES, 2006, p. 19-20).
miolo_geografia_UFF.indd 324 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 325
O tratado de Vestfália (1648)219 afirma a soberania de nações, posteriormente
legitimando a formação dos Estados-nação. As ideias centrais do tratado apon-
tavam para a legitimação das relações Estado-Território-Nação, compreendendo
nação como uma comunidade com sentimentos de pertencimento comum e certa
homogeneidade, mas o que percebemos posteriormente é a constituição de um
Estado marcado pela sobreposição de determinadas nações sobre outras. Poderes,
línguas e costumes são institucionalizados/oficializados segundo interesses de na-
ções específicas em detrimento de outras, agora organizadas politicamente como
partes integrantes de um mesmo território.
Tais processos geram conflitos em duas diferentes frentes (“fronts”) geográfi-
cas: 1. entre distintos grupos em disputa pelo direito de participar das decisões
políticas dos Estados-nação em formação; 2. entre um modelo que apregoava a
soberania estatal num mundo marcado por nações colonizadas.
A forma estatal desse sistema-mundo moderno-colonial será consagrada em
Vestfália, em 1648. Aqui, mais uma vez, vê-se toda a contradição que o mundo
atual herdará, posto que se institui uma ordem interestadual num momento
em que a maior parte dos povos do mundo estava submetida a uma ordem
abertamente colonial. Assim, Vestfália afirma a soberania num momento em
que o estatuto colonial – portanto, da mais completa negação da soberania
– dominava a maior parte do mundo: a América, a África e a Ásia. (HAES-
BAERT; PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 21)
Se os Estados nacionais europeus se constituíram objetivando uma amálgama
política, territorial e simbólica marcada pela busca da sobreposição da diversida-
de de coletividades, hoje as nomearíamos de etnias, suprimindo diferenças em
busca de uma integração nacional moderna, alicerçadas nos preexistentes reinos
219 Uma sequência de tratados europeus, iniciados em Vestfália, gerou as bases conceituais/políticas para a con-
solidação do Estado Moderno. A chamada Paz de Vestfália (ou de Vestefália, ou ainda Westfália), conhecida
como os Tratados de Münster e Osnabrück (ambas as cidades atualmente na Alemanha), designa uma série de
tratados que encerrou a Guerra dos Trinta Anos e também reconheceu oficialmente as Províncias Unidas e a
Confederação Suíça. Outros tratados, como o Tratado Hispano-Holandês (também de 1648) e o Tratado dos
Pirineus (1659) se seguiram a Vestfália. Este conjunto de diplomas inaugurou o moderno Sistema Internacio-
nal, ao acatar consensualmente noções e princípios como o de soberania estatal e o de Estado-nação. Embora
o imperativo da paz tenha surgido em decorrência de uma longa série de conflitos generalizados, surgiu com
eles a noção embrionária de que uma paz duradoura derivava de um equilíbrio de poder, noção essa que se
aprofundou com o Congresso de Viena (1815) e com o Tratado de Versalhes (1919). Por essa razão, a Paz de
Vestfália costuma ser o marco inicial nos currículos dos estudos de Relações Internacionais.
miolo_geografia_UFF.indd 325 30/01/17 17:16
326 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
dinásticos e comunidades religiosas (ANDERSON, 2008), a formação dos Esta-
dos das nações colonizadas, entre elas a brasileira, seguem, em muitos aspectos,
caminhos diferentes.
Desde sua independência, o Brasil busca os caminhos para a construção e a
difusão de uma identidade nacional. Como nos alerta Ortiz (2003, p. 9), “a luta
pela definição do que seria uma identidade autêntica é uma forma de se delimi-
tar as fronteiras de uma política que procura se impor como legítima”. Interesses
do Estado e de determinados setores/grupos sociais serão estampados na busca
pela construção/invenção do “brasileiro”, através do trabalho, em especial, de
artistas e intelectuais.
Áreas emergentes como centros de poder (político e simbólico) passam a
incorporar o restante do País a partir de suas interpretações, marcadas pelos inte-
resses de específicos grupos sociais, assim como pelos seus projetos de civilização
e nação. Não encontram ao longo do vasto território brasileiro em formação,
entretanto, apenas diversidades regionais, mas uma população marcada pelo es-
tigma produzido pelo processo colonial. Negros e índios, homogeneizados histo-
ricamente pelo olhar do colonizador, de alguma forma precisam ser incorporados
ao projeto civilizatório do Brasil enquanto uma nova nação.
Somos/queremos ser um povo mestiço? Queremos ser brancos? Temos uma
essência que nos unifica enquanto povo? A busca por sermos “modernos”, por
nos inserirmos na modernidade política, cultural e econômica, perpetuou-nos
em um estado de dependências. Como nos aponta Quijano (2005), as colonia-
lidades do saber e do poder objetivaram produzir a homogeneização de povos
heterogêneos220.
Em torno da ideia de “índios”, povos foram homogeneizados, assim como
os seus espaços de origem, a “América”, tanto quanto o seu papel “natural” na
divisão social do trabalho: servos. Diversos outros povos foram homogeneizados
220 Quijano nos contribui com o entendimento do controle da subjetividade e do conhecimento como o
centro da produção do que hoje conceitualmente nominamos “colonialidade do saber”. “A incorporação
de tão diversas e heterogêneas histórias culturais a um único mundo dominado pela Europa significou
para esse mundo uma configuração cultural, intelectual, em suma intersubjetiva, equivalente à articulação
de todas as formas de controle do trabalho em torno do capital, para estabelecer o capitalismo mundial.
Com efeito, todas as experiências, histórias, recursos e produtos culturais terminaram também articulados
numa só ordem cultural global em torno da hegemonia europeia ou ocidental. Em outras palavras, como
parte do novo padrão de poder mundial, a Europa também concentrou sob sua hegemonia o controle de
todas as formas de controle da subjetividade, da cultura, e em especial do conhecimento, da produção do
conhecimento” (2005, p. 236).
miolo_geografia_UFF.indd 326 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 327
ao longo da expansão colonial como “negros”, associados a um espaço igualmente
visto pelo olhar imperial como homogêneo, a “África”, também cumprindo papel
específico na divisão do trabalho: escravos. Aos “brancos”, homogeneizados como
“europeus”, em alteridade aos outros povos, coube o papel de mando e, futura-
mente, de trabalho assalariado (QUIJANO, 2005)221.
O processo de abolição da escravatura brasileiro produziu, através da importa-
ção de mão-de-obra-branca-europeia-assalariada, a exclusão de grande parte dos
“negros” da incorporação ao sistema produtivo emergente. Se analisarmos, conco-
mitantemente, a Lei de Terras de 1950, perceberemos que à grande parte dos es-
cravos libertos restou a marginalização cultural, social, econômica e territorial222.
O que podemos apontar de mais relevante neste debate para este trabalho
é o processo/mecanismo sociocultural coletivo de estigmatização do “outro”
para a construção de “minha” valorização social. A partir desta lógica, a pri-
meira “geoidentidade” da modernidade, segundo Quijano (2005), foi a “ame-
ricana”223, construída pelos colonizadores como representação do primitivo e
selvagem para, a partir dessa, a invenção da identidade “europeia”, marcada pela
ideia de civilização.
Said (2007) nos aponta semelhante reflexão nos processos de “invenção” do
Oriente pelo Ocidente. Sociedades que conviveram na Península Ibérica por 800
anos (antes de 1500) e lá trocaram conhecimentos e prática, passam, em determi-
nado momento histórico, a se verem divididos por uma fronteira que objetivava
se naturalizar como “natural” e a-histórica. Povos “filhos” de um mesmo processo
social tornam-se, a partir da “invenção” do Oriente, sociedades e espaços dicoto-
mizados. O Oriente torna-se, da mesma forma que a América, um espaço referên-
cia a partir do qual a Europa se diferencia enquanto centro civilizatório mundial.
221 “Cada forma de controle do trabalho esteve articulada com uma raça particular. Consequentemente, o
controle de uma forma específica de trabalho podia ser ao mesmo tempo um controle de um grupo especí-
fico de gente dominada” (idem, p. 232).
222 À frente perceberemos a importância dessa temática para a compreensão dos processos socioespaciais a
serem abordados neste trabalho.
223 “A América constitui-se como o primeiro espaço-tempo de um padrão de poder de vocação mundial e,
desse modo e por isso, como a primeira id-entidade da modernidade. (...). “Na América, a ideia de raça
foi uma maneira de outorgar legitimidade às relações de dominação impostas pela conquista. A posterior
constituição da Europa como nova id-entidade depois da América e a expansão do colonialismo europeu
ao resto do mundo conduziram à elaboração teórica da ideia de raça como naturalização dessas relações
coloniais de dominação entre europeus e não europeus” (QUIJANO, 2005, p. 228-229).
miolo_geografia_UFF.indd 327 30/01/17 17:16
328 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
A ideia de “Novo Mundo”, bem como toda a obsessão pelo “novo”, que tanto
marcará a chamada Modernidade, o imaginário europeu ocidental desde o
Renascimento e o colonialismo, deveu-se à necessidade de afirmação frente
ao “Mundo Antigo” – o Oriente. Os europeus vão brandir a América como
a expressão do Novo Mundo e, com isso, contraditoriamente, deixam escapar
que foi essa América que lhes serviu não só de contraponto ao Oriente, mas,
sobretudo, de suporte para que se pudessem afirmar como centro geopolítico
e cultural do mundo. É a riqueza em ouro e prata saqueada de povos milena-
res como os quéchuas, aimarás, zapotecas, mixtecos, caribes, mapuches, tupis,
guaranis e tantos outros, organizados/subordinados ou não em impérios, como
o inca, o maia e o asteca, aliada à comercialização e escravização para fins
mercantis de vários povos africanos, que permitirá aos europeus concentrarem
tanta riqueza e poder para se contraporem ao Oriente e se imporem ao mundo
(HAESBAERT; PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 19).
A partir da colonização de nações, povos se uniram em torno de um pon-
to comum: sua subordinação. A apropriação europeia dos saberes presentes em
diferentes povos/espaços ampliou sua compreensão acerca do globo, do mundo
enquanto um globo, do “todo espacial” enquanto a “Terra finita”, tanto quanto das
diferenciações sociais e espaciais que faziam deste todo um conjunto de partes dis-
tintas. “À possibilidade de uma visão planetária na representação do mundo vem
somar-se a formação de um cabedal de informações sobre lugares singulares loca-
lizados nos mais variados pontos da superfície terrestre” (MORAES, 2002, p. 18).
As Sociedades de Geografia ao longo do século XIX e começo do XX constro-
em um saber geográfico (ainda não considerado a “geografia científica”) formado
pelo conhecimento de tudo que se referia a povos e territórios dos diferentes can-
tos do mundo produzidos a partir da reunião de viajantes, naturalistas, militares e
cientistas de várias procedências acadêmicas em busca de inventariar informações
sobre territórios de interesse dos Estados europeus (MOREIRA, 2009).
Esse saber acumulado está inserido em quatro processos de grande relevância
para este trabalho: 1. o acúmulo de relatórios e pesquisas produzidas por viajantes
no “Novo Mundo” permitiram, no final do século XIX, o surgimento do pensa-
mento científico geográfico europeu; 2. a compreensão das diferenciações socio-
espaciais do mundo, somada à busca pela legitimação da Geografia enquanto um
saber científico próprio, permitiram a emergência do conceito de região enquanto
seu cerne, invisibilizando historicamente outras possíveis abordagens conceituais
miolo_geografia_UFF.indd 328 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 329
do espaço geográfico (LACOSTE, 1988); 3. um saber estratégico territorial per-
mitiu, historicamente, a dominação de povos por outros povos; 4. a apropriação
por parte da Europa do saber produzido por distintas sociedades do planeta lhe
proporcionou a possibilidade de se autodefinir como a “autora” dos saberes de
outrem (QUIJANO, 2005)224.
Sociedades, saberes e espaços são produzidos, entre outras formas, a partir de
expansões e/ou integrações territoriais. Os mesmos saberes que propiciaram a for-
mação do conhecimento geográfico sistematizado como científico, propiciaram
a centralização político, cultural e econômico mundial no continente europeu. A
ideia de colonialismo permeou toda a formação do mundo chamado moderno, a
partir de relações internacionais que definiram lugares sociais a grupos e espaços
que emergiram a partir de determinados novos papéis a cumprir.
Como nos apontam diversos autores (entre eles destacamos Quijano (2005),
Hall (2003), Haesbaert e Porto-Gonçalves (2006), Sousa Santos (2004) e Mig-
nolo (2003), as colonialidades do saber e poder não se diluíram com a indepen-
dência política de Estados colonizados, ao contrário, se perpetuam participando,
de forma significativa, do ordenamento político-cultural do mundo moderno.
Colonizados fomos por Estados estrangeiros. Colonizadores somos de povos e re-
giões ainda hoje exploradas por modelos centralizadores e eurocêntricos de saber?
Sousa Santos (2004) nos traz reflexões riquíssimas acerca das transformações
entre centros/periferias em transformação no mundo contemporâneo, definindo o
224 “Os europeus imaginaram (...) serem não apenas os portadores exclusivos [da] (...) modernidade, mas
igualmente seus exclusivos criadores e protagonistas (...) A modernidade é um fenômeno de todas as cultu-
ras, não apenas da europeia ou ocidental” (QUIJANO, 2005, p. 239). Segundo o autor, ideias associadas
à modernidade como novidade, avançado, racional-científico, laico, secular são fenômenos possíveis em
todas as culturas em todas as épocas históricas. “Com todas as suas respectivas particularidades e diferen-
ças, todas as chamadas altas culturas (China, Índia, Egito, Grécia, Maia-Asteca, Tauantinsuio) anteriores
ao atual sistema-mundo, mostram inequivocamente os sinais dessa modernidade, incluindo o racional
científico, a secularização do pensamento etc. Na verdade, a estas alturas da pesquisa histórica seria quase
ridículo atribuir às altas culturas não europeias uma mentalidade mítico-mágica como traço definidor, por
exemplo, em oposição à racionalidade e à ciência como características da Europa, pois além dos possíveis
ou melhor conjecturados conteúdos simbólicos, as cidades, os templos e palácios, as pirâmides, ou as ci-
dades monumentais, seja Machu Picchu ou Boro Burdur, as irrigações, as grandes vias de transporte, as
tecnologias metalíferas, agropecuárias, as matemáticas, os calendários, a escritura, a filosofia, as histórias, as
armas e as guerras, mostram o desenvolvimento científico e tecnológico em cada uma das tais altas culturas,
desde muito antes da formação da Europa como nova id-entidade. O mais que realmente se pode dizer é
que, no atual período, foi-se mais longe no desenvolvimento científico-tecnológico e se realizaram maiores
descobrimentos e realizações, com o papel hegemônico da Europa e, em geral, do Ocidente” (QUIJANO,
2005, p. 240).
miolo_geografia_UFF.indd 329 30/01/17 17:16
330 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Estado-nação português como o “Sul” do “Norte”, tendo em vista seu papel de de-
pendência no continente europeu. Os termos “Norte” e “Sul” não nos revelam mais
apenas hemisférios planetários, nem tampouco adjetivos de regiões definidas como
desenvolvidas ou subdesenvolvidas. “Norte” e “Sul” revelam diferenciações socioes-
paciais (re)produzidas historicamente a partir de processos intercontinentais e intra-
continentais, internacionais e intranacionais, cuja centralidade perpassa o ideal de
adjetivação do “outro” associado a seu controle e apropriação materiais e simbólicos,
assim como processos de resistência material e simbólica de grupos sociais.
Região, colonialidade e subdesenvolvimento
“A idolatria do eu conduz à idolatria a propriedade;
o verdadeiro Deus da sociedade cristã ocidental
chama-se domínio sobre os outros.”
(Octavio Paz)
Ao nos debruçarmos sobre o significado do termo “região”, encontraremos em
sua origem etimológica, em suas raízes, um sentido ligado a relações de poder. Re-
gião vem do latim, “Regere”, que significava comandar (região como área de co-
mando ou reino) (HAESBAERT, 2010). Entretanto, o discurso regional predo-
minante, em especial o desenvolvido pela ciência geográfica na primeira metade
do século XX, invisibiliza as relações políticas/de poder para se fundamentar na
descrição das diferenciações do espaço. Regiões passam a ser delimitadas segundo
relativa uniformidade paisagística, tendo em vista a caracterização de partes do
todo. Na França, estudos propostos por Vidal de La Blache e, posteriormente,
realizados por seus discípulos, apresentaram possibilidades de compreensão da
realidade nacional francesa a partir do entendimento de suas partes, de suas es-
pecíficas e diferenciadas regiões (HAESBAERT, 2010; LACOSTE, 1988). Da
mesma forma, o Brasil teve todo o seu território (re)conhecível, ao longo do
século XX, através de estudos e diagnósticos que objetivavam descrever e mapear
a diversidade socioespacial brasileira.
Grande parte dos conhecimentos geográficos produzidos sobre o território
brasileiro foi requerido pelo Estado para fins de utilizá-lo estrategicamente segun-
do seus objetivos maiores; outra parte foi transmitida através da geografia escolar,
miolo_geografia_UFF.indd 330 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 331
utilizando-se, por muito tempo, parafraseando Lacoste (1988), de uma lingua-
gem enfadonha, descritiva, a-crítica, onde as temáticas que envolviam o espaço
enquanto elemento de poder foram obscurecidas. Segundo o autor, o espaço,
tanto quanto o saber sobre o espaço, sempre foram um dos elementos centrais da
produção e reprodução de relações de poder. Somente aquilo que poucos sabem,
pode se tornar instrumento de dominação.
Na época em que a maioria dos homens vivia ainda para o essencial, no qua-
dro da autossubsistência aldeã, a quase totalidade de suas práticas se inscrevia,
para cada um deles, no quadro de um único espaço, relativamente limitado: o
“terroir” da aldeia e, na periferia, os territórios que relevam das aldeias vizinhas.
Além, começavam os espaços pouco conhecidos, desconhecidos, míticos. Para
se expressar e falar de suas práticas diversas, os homens se referiam, portanto,
antigamente, à representação de um espaço único que eles conheciam bem
concretamente, por experiência pessoal.
Mas, desde há muito, os chefes de guerra, os príncipes, sentiram necessidade
de representar outros espaços, consideravelmente mais vastos, os territórios
que eles dominavam ou que queriam dominar, os mercadores, também, preci-
sam conhecer as estradas, as distâncias, em regiões distantes onde eles comer-
cializavam com outros homens.
Para esses espaços muito vastos ou dificilmente acessíveis, a experiência pesso-
al, o olhar e a lembrança não eram mais suficientes. É então que o papel do
geógrafo-cartógrafo se torna essencial: ele representa, em diferentes escalas, ter-
ritórios mais ou menos extensos; a partir das “grandes descobertas”, poder-se-á
representar a Terra inteira num só mapa em escala bem pequena (...) e este será,
durante muito tempo, o orgulho dos soberanos que o detêm. Durante séculos,
só os membros das classes dirigentes puderam apreender, pelo pensamento,
espaços bastante amplos para tê-los sob suas vistas, e essas representações do
espaço eram um instrumento essencial da prática do poder sobre os territórios
e homens mais ou menos distantes. O imperador deve ter uma representação
global e precisa do império, de suas estruturas espaciais internas (províncias) e
dos Estados que o contornam – é uma carta em escala pequena que é necessá-
ria. Em contrapartida, para tratar problemas que se colocam nesta ou naquela
província, precisam de uma carta em escala maior, a fim de poder dar ordens
a distância, com uma relativa precisão. Mas para a massa dos homens domi-
nados, a representação do império é mítica e a única visão clara e eficaz é a do
território. (1988, p. 43-44)
miolo_geografia_UFF.indd 331 30/01/17 17:16
332 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Desde há tempos existe uma necessidade elementar presente em poderes es-
truturados de forma centralizada de conhecer o espaço geográfico para, a partir
de tal saber, garantir o controle de áreas e pessoas. O processo de colonização
europeia é, como vimos, marcadamente articulado em torno da necessidade de
expansão territorial comercial possibilitado através de uma política estatal de (re)
conhecimento territorial. Estados-nação europeus foram constituídos via centra-
lização de poderes em torno de determinados grupos e lugares que, através de
instrumentos políticos, econômicos e bélicos, instituíram fronteiras nacionais e
intranacionais segundo lógicas, somente possíveis, a partir de um conhecimento
do todo (território nacional em formação) tanto quanto de suas partes (diferentes
espaços ocupados por diferentes grupos (nações/etnias).
A colonização do “Novo Mundo” foi possibilitada em função dos saberes
estrategicamente produzidos e concentrados nas mãos de poucos grupos socio-
políticos europeus acerca de diferentes realidades socioespaciais existentes num
mundo a ser descoberto/inventado/conquistado/dominado. É-nos fundamental
a compreensão de como instrumentos e mecanismos constituídos socialmente
através da colonização, desde o século XVI, perduraram, em constante mutação,
e se reproduziram, ao longo de cinco séculos, possibilitando relações de poder
pautadas na, ainda, conquista territorial.
Bornheim (1998, p. 7) nos alerta para a atualidade do conceito de descobri-
mento. “O conceito de descobrimento instaura-se por inteiro através da explo-
ração de todos os patamares da alteridade. (...) Trata-se de um conceito, de um
conceber-se que vai se alargando até tornar-se sinônimo de próprio destino da hu-
manidade.” Temos, no processo de emergência de regiões através da regionaliza-
ção estatal, o discurso da “re-descoberta” de uma região. Estamos aqui analisando,
antes de tudo, um mecanismo de apropriação territorial por parte de específicos
grupos sociopolíticos que encontra, num contexto de integração/incorporação
territorial capitalista, sua legitimação através do “descobrir”.
Quijano (2005), ao dissertar sobre o processo colonial e a produção da colo-
nialidade do poder, defende a indissociabilidade de quatro processos que permiti-
ram a conquista territorial europeia. A homogeneização dos diferentes povos pre-
sentes no “Novo Mundo” em torno do conceito “índio” esteve sempre associada
a sua delimitação geográfica em torno de um espaço, a América, também homo-
geneizada a partir de sua caracterização enquanto “espaço-primitivo”/“espaço-do-
-primitivo” (termos nossos), assim como em torno da delimitação de seu papel
miolo_geografia_UFF.indd 332 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 333
numa divisão social do trabalho (trabalho servil), tanto quanto em torno de uma
realocação temporal que transformou, através de uma perspectiva evolucionista,
povos contemporâneos em “‘povos do passado’ versus ‘povos do futuro’”. Pode-
mos encontrar muitos paralelos entre tais mecanismos e o processo de emergência
de regiões intranacionais brasileiras, via Estado, em escalas diversas.
Não se trata aqui de um processo de expansão e conquista territorial para
fins de incorporação de novas áreas a um império em formação (lógica colonial
clássica), mas o da conquista de partes de um território (o nacional) de fronteiras
consideravelmente já bem estabelecidas, em busca de uma integração interna que
possibilite a legitimação do poder estatal, tanto quanto da expansão de um proje-
to nacional modernizador/capitalista.
As Sociedades de Geografia cumpriram relevante papel na produção de um
“inventário” acerca das potencialidades e realidades a serem incorporadas, às vezes
combatidas, para que o projeto de conquista colonial/imperial se concretizas-
se. Tais conhecimentos possibilitaram também a produção do saber geográfico
científico. A partir dos conhecimentos produzidos por diferentes expedições,
pensadores puderam, correlacionando-os a reflexões filosóficas/epistemológicas,
construir a ciência geográfica (MOREIRA, 2009).
A ciência geográfica inicia seu processo de institucionalização no Brasil ao
longo do século XIX, através do surgimento do Instituto Histórico Geográfico
Brasileiro (1838) e da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro (1883). Na pri-
meira metade do século XX, a Geografia brasileira irá se consolidar. Ocorrem o
primeiro Congresso Brasileiro de Geografia na cidade do Rio de Janeiro (1909)
e o primeiro curso de formação de geógrafos no País, o Curso Livre de Geografia
oferecido pela Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro na década de 1920. A
partir da década de 1930, surgem as instituições mais comumente associadas ao
surgimento da geografia institucional e científica brasileira: a Associação dos Geó-
grafos Brasileiros – AGB (1934), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –
IBGE (1937), os cursos de Geografia da Universidade de São Paulo – USP (1934)
e da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ (1935) (à época também
conhecida como Universidade do Distrito Federal) (SOUZA NETO, 2012).
Segundo Souza Neto (2012), o surgimento do saber geográfico no Brasil está
inteiramente correlacionado ao conhecimento acerca do território hoje brasileiro
e à sua consolidação enquanto espaço-nacional.
miolo_geografia_UFF.indd 333 30/01/17 17:16
334 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Alexandre Gusmão, que era diplomata português, conseguiu fazer/dizer que
nós conhecíamos o território brasileiro porque havíamos medido o território
brasileiro, sabíamos a extensão dele, sabíamos até onde ele ia, inclusive com-
provando isso por intermédio de cartas, de levantamentos realizados com esse
ainda frágil esquadrinhamento do território, e aí o que houve? Nós trocamos o
reconhecimento da Espanha, de que esse território mais a oeste era proprieda-
de de Portugal por uma possessão portuguesa das Filipinas. As Filipinas eram
portuguesas, e passaram a ser, à época, propriedade espanhola (...). Mas o que
é que garantiu que o território fosse “conquistado” (...) foi o conhecimento
efetivo do território, foi o saber do território, foi tê-lo esquadrinhado, foi tê-lo
construído do ponto de vista representacional, foi isso que permitiu Alexandre
Gusmão postular suas teses. (2002, p. 3)
O acúmulo de informações e conhecimentos sobre o território brasileiro pos-
sibilitou a legitimação da conquista territorial portuguesa, tanto quanto a insti-
tucionalização da Geografia no Brasil. A demanda estratégica do poder por co-
nhecimento territorial alimentou expedições no período da chamada geografia
pré-científica, tanto quanto na geografia hoje consolidada enquanto saber cien-
tífico/sistemático. Ao analisarmos tais processos, nos deparamos com a impor-
tância histórica de “estudos/diagnósticos regionais estatais” na produção de um
conhecimento estratégico acerca de áreas do território brasileiro, em tempos em
que uma política de incorporação territorial nacional ao projeto de desenvolvi-
mento capitalista se consolidava.
Na perspectiva de um novo projeto nacional, urbano-industrial, muito pouco
se conhecia acerca das potencialidades do interior do País. O Estado, confrontado
com demandas industriais e crises econômicas, encontra a seu dispor, a partir da
década de 1930, equipes de geógrafos ávidas por colocar em prática uma das mais
relevantes atividades de um geógrafo (cientista ou não) na história da humanida-
de: participar, via expedição, da construção de um acervo informacional acerca do
espaço geográfico. Em outras palavras, geógrafos ávidos por “descobrir”. Segundo
Gomes (1999, p. 338), “a aventura da exploração é parte essencial da tradição
geográfica. (...) Afinal, nossos legítimos antepassados são esses viajantes que des-
cobriram novas terras ou redescobriram as conhecidas através de seus relatos”.
A “re-descoberta” de áreas então nominadas de região aponta para a perpe-
tuação dos mecanismos presentes no colonialismo, que demandam diálogos, no
entender desse trabalho, com os conceitos de “colonialidade do saber” e “colo-
miolo_geografia_UFF.indd 334 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 335
nialidade poder” de Quijano (2009). Os quatro mecanismos de dominação apre-
sentados pelo autor, já elencados acima, estão presentes na emergência da região
a partir de sua “re-descoberta” pelo Estado. A homogeneização de sua popula-
ção, o que permitirá a construção da ideia da existência do “povo da região” (o
“Nordestino”, por exemplo), será associada a um espaço, a região, também dita
homogênea (o “Nordeste”, por exemplo) a partir de sua pobreza (“espaço-subde-
senvolvido”), assim como a um papel a ser definido na divisão social do trabalho
(este será determinado a partir da inserção dependente da região numa emergente
divisão territorial do trabalho), tanto quanto a sua realocação temporal (regiões
ditas “marcadas pelo atraso” dentro de uma lógica “modernizante”).
A partir do processo de apropriação regional, segundo as lógicas apresenta-
das acima, produz-se e/ou legitima-se aquilo que, nas palavras de Shiva (2003),
nominaremos de “colonização intelectual”. Tal processo é marcado, segundo a
autora, pela violência simbólica que transforma saberes em não saberes através
de sua invisibilidade e/ou sua adjevitação enquanto “primitivo”, “anticientífico”,
provinciano e limitado. Segundo Shiva,
o saber científico dominante cria uma monocultura mental ao fazer desapare-
cer o espaço das alternativas locais, de forma muito semelhante à das monocul-
turas de variedades de plantas importadas, que leva à substituição e destruição
da diversidade local. (2003, p. 25)
Como nos aponta Freire (2001, p. 46), a “descrença no homem simples revela
(...) um (...) equívoco: a absolutização de sua ignorância”. No cerne do processo
de “re-descoberta” regional está a invisibilização dos sujeitos sociais nele presen-
tes, através de lentes míopes marcadas por olhares etnocêntricos, economicistas,
desenvolvimentistas e evolucionistas, segundo os quais uma região é vista/dita
enquanto um conjunto de lugares e indivíduos sem história e saberes em razão de
seu discursado subdesenvolvimento material/econômico.
Moura (1988, p. 10) ressalta:
as distorções do pensamento tecnocrático que, retomando a filosofia da histó-
ria do evolucionismo social em sua forma mais simplista, pretende extrair da
própria realidade um modelo unilinear e unidimensional das fases da trans-
formação histórica e considera-se a si mesmo o aferidor de uma comparação
miolo_geografia_UFF.indd 335 30/01/17 17:16
336 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
universal que lhe permite hierarquizar de maneira unívoca, segundo seu grau
de desenvolvimento ou de racionalidade, as diferentes sociedades.
Segundo Shiva (2003), historicamente o saber chamado ocidental se cons-
truiu através da dominação de outros saberes.
O desaparecimento do saber local por meio de sua interação com o saber oci-
dental dominante acontece em muitos planos, por meio de muitos processos.
Primeiro fazem o saber local desaparecer simplesmente não o vendo, negando
sua existência. Isso é muito fácil para o olhar distante do sistema dominante de
globalização. Em geral, os sistemas ocidentais de saber são considerados uni-
versais. No entanto, o sistema dominante também é um sistema local, com sua
base social em determinada cultura, classe e gênero. Não é universal em senti-
do epistemológico. É apenas a versão globalizada de uma tradição local extre-
mamente provinciana. Nascidos de uma cultura dominadora e colonizadora,
os sistemas modernos de saber são, eles próprios, colonizadores. (2003, p. 21)
Faz-se necessário compreendermos que a emergência de regiões de intervenção
do Estado, assim como sua caracterização/diferenciação segundo suas pobrezas,
foram possíveis através de discursos que refletiam, não uma realidade observada e
descoberta por um Estado, a partir desse momento sensível a seus problemas, mas
os interesses de determinados grupos sociais que, para serem analisados segundo
uma perspectiva crítica, devem ser contextualizados histórica e geograficamente.
Quando ressalto que um determinado discurso é produzido sobre um lugar
a partir de sujeitos sociais inseridos, contextualizados e comprometidos em/com
outro lugar, estou me propondo ao reconhecimento da importância do chamado
“lugar de enunciação”. De acordo com Porto-Gonçalves (2006, p. 42), “o lugar
de enunciação não é uma metáfora que possa ignorar a materialidade dos lugares,
enfim, a geograficidade do social e do político”. Adjetivações e estigmatizações,
assim como projetos de regionalização e desenvolvimento regional, são elabora-
dos, propostos e realizados a partir de interesses e racionalidades presentes em
grupos específicos que, em determinado contexto histórico-geográfico, possuem
o poder de poder dizer.
Bourdieu aponta para a relevância do que ele denomina de a “luta das classi-
ficações”, que consistiriam nas “lutas pelo monopólio de fazer ver e fazer crer, de
miolo_geografia_UFF.indd 336 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 337
dar a conhecer e de fazer reconhecer, de impor a definição legítima das divisões
do mundo social” (1983 p. 113). O “subdesenvolvimento” que justificou a regio-
nalização de diversas áreas do território brasileiro a partir da criação de agências
de desenvolvimento regional, na segunda metade do século XX, não se restringe
a escala nacional. Muitas outras áreas foram “descobertas”, no mesmo período, a
partir de sua “pobreza”, através das quais um conjunto significativo de localida-
des, a partir de 1945, tornou-se conhecido como “Terceiro Mundo”.
Uno de los muchos cambios que ocurrió a comenzios de la segunda posguerra
fue el “descobrimiento” de la pobreza masiva em Ásia, África y América Latina.
Relativamente insignificante y en apariencia lógica, el hallazgo habría de pro-
porcionar el ancla para una importante restruturación de la cultura y la eco-
nomia política globales. El discurso bélico se desplazó al campo social y hacia
um nuevo território geográfico: el Tercer Mundo. (ESCOBAR, 1996, p. 51)
O autor apresenta-nos uma genealogia dos conceitos de desenvolvimento e
subdesenvolvimento a partir de uma análise integrada das dinâmicas de discurso
e poder presentes na criação da realidade social, através das quais o desenvolvi-
mento pode ser compreendido como um regime de representações, como uma
“invenção” que moldou, desde seu surgimento (pós-guerra), todas as possíveis
concepções de realidade e de ação dos países a partir desse momento classificados
como subdesenvolvidos. O desenvolvimento tornar-se-ia uma espécie de “evan-
gelho”, apresentado como alternativa única aos “condenados” ao subdesenvolvi-
mento, caracterizado (pelos “países centrais”) a partir de traços como impotência,
passividade, pobreza e ignorância (ESCOBAR, 1996).
Segundo Pires (2007), em alusão ao pensamento de Celso Furtado, o conceito
de desenvolvimento, com referência à história contemporânea, tem sido utilizado
em dois sentidos.
O primeiro diz respeito à evolução de um sistema social de produção à medida
que este, mediante a acumulação e o progresso das técnicas, torna-se mais efi-
caz, ou seja, elevada a produtividade do conjunto de sua força de trabalho. (...)
O segundo sentido em que se faz referência ao conceito de desenvolvimento
relaciona-se ao grau de satisfação das necessidades humanas. (p. 60)
miolo_geografia_UFF.indd 337 30/01/17 17:16
338 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Chamo atenção para o fato de que projetos de desenvolvimento regional utili-
zam-se do discurso público referente ao segundo sentido acima apresentado (am-
pliação do grau da satisfação das necessidades humanas), quando, em verdade,
busca sua potencialização segundo o sentido primeiro (integração regional para
aumento, via técnica, da produtividade da força de trabalho). É inquestionável a
existência histórica de carências sociais nas áreas classificadas enquanto “subde-
senvolvidas”, tanto quanto nos parece inquestionável os diferentes sentidos em
torno do conceito de pobreza se articulado com os também diferentes sentidos
a que o termo desenvolvimento pode receber. O discurso de “fim da pobreza”
torna-se, no processo de invenção de “regiões-problema”, um meio, não mais
um fim; um mecanismo de legitimação, não para a sua superação, mas para sua
incorporação à integração estadual/nacional de forma dependente.
Como nos alerta Paula (2011), o termo subdesenvolvimento é comumente
utilizado, de forma errônea, como antônimo/ausência de desenvolvimento. En-
tretanto, é relevante ressaltarmos que subdesenvolvimento é um tipo específico de
desenvolvimento. Segundo o autor, o fenômeno de “subdesenvolvimento” pode
ser entendido “como processo, como modo determinado que o desenvolvimento
capitalista assumiu como desdobramento da inserção colonial, subalterna, de-
pendente de certos países nos quadros da imposição do capitalismo em escala
mundial” (p. 42).
Ao adjetivarmos áreas do espaço enquanto “região subdesenvolvida”, não esta-
mos, conceitualmente, analisando uma área onde o desenvolvimento, seja por que
razões for, ainda não se instalou, mas sim onde o desenvolvimento capitalista ocor-
reu/ocorre de forma dependente. A incorporação de determinadas áreas de forma
subalterna, política, social e economicamente, ao sistema capitalista produz subde-
senvolvimento onde antes havia, muitas vezes, certos graus de autonomia local225.
Agências de desenvolvimento regional são criadas para superar o subdesenvol-
vimento regional ou para produzi-lo através da incorporação regional dependente
à integração nacional capitalista? Harvey (2005) nos apresenta o termo “desen-
volvimento do subdesenvolvimento” (criado, segundo o autor, por A. Frank), o
conceitualizando como
225 O presente trabalho não defende uma compreensão simplificadora acerca da existência de passados locais
absolutamente autônomos transformados, ao longo do tempo, em completamente dependentes. Considera
ser, entretanto, muito significativos a produção e/ou o aprofundamento de dependências econômicas e
políticas a partir da implantação de projetos de desenvolvimento regional que objetivam incorporar áreas a
novas divisões territoriais do trabalho em fase de reordenamento.
miolo_geografia_UFF.indd 338 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 339
a criação do “subdesenvolvimento” por meio da penetração capitalista, trans-
formando sociedades não capitalistas de organizações relativamente autossufi-
cientes para a produção de valores de uso em unidades especializadas e depen-
dentes para a produção de valores de troca. (p. 59)
A incorporação de uma área com relações, majoritariamente, não capitalistas
de produção ao projeto modernizador nacional relaciona-se à busca imperial pela
expansão do capitalismo em escala mundial. O imperialismo seria, segundo Lu-
xemburgo (apud Harvey, 2005, p. 67), justamente “a expressão política da acu-
mulação de capital em sua luta competitiva para o que ainda permanece aberto
em relação ao ambiente não capitalista”.
A “redescoberta” regional refere-se a sua “reconquista”, ao avanço territorial do
modo de produção capitalista, sob formas de poder e saber colonizadas e coloniza-
doras. Silva (2007), ao analisar um projeto de desenvolvimento regional, disserta que
a maioria dos projetos arquitetados nos gabinetes governamentais não vão
ao encontro das necessidades e dos anseios do povo, mas são geralmente in-
tervenções autoritárias, marcadas por uma concepção colonizadora, que, via
de regra, tende a desarticular modos de vida organizados a partir de lógicas
próprias e que fazem sentido na vida das pessoas e para cada realidade. (p.
194) (grifo nosso)
Questiono aqui, entre tantas e significativas consequências produzidas pela
colonialidade o saber e poder na concepção de projetos de desenvolvimento
regional, a monumental falta de “criatividade” de seus executores. A “pré-
caracterização” de uma área como subdesenvolvida para, a partir daí, instituir
uma política pública desenvolvimentista, permite aos seus propositores, mesmo
que bem-intencionados, pouco mais do que a busca pela adequação de uma “áre-
a-desvio” aos padrões de desenvolvimento de espaços pré-escolhidos e pré-utili-
zados como referência (em geral, áreas urbano-industriais). Nada mais a fazer,
com um diagnóstico em mãos, do que seguir preestabelecidos passos e bulas para
atingir, em tese, índices estatísticos similares aos referentes a áreas centrais.
Paula (2011) nos alerta para os, ainda relevantes, limites dos instrumentos his-
toricamente utilizados para diagnosticar a realidade, tanto quanto para subsidiar
políticas de desenvolvimento.
miolo_geografia_UFF.indd 339 30/01/17 17:16
340 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Não há qualquer dúvida quanto ao significativo avanço, do ponto de vista dos
melhores valores civilizatórios, representado pela substituição de medidas an-
teriores de desenvolvimento/crescimento, renda per capita, pela medida Índice
de Desenvolvimento Humano (IDH), mesmo reconhecendo-se as limitações
desse indicador. O IDH está longe de ser um indicador ideal, por continuar
ignorando a questão da sustentabilidade, por não ser capaz, efetivamente, de
captar seja a qualidade da vida humana, seja a qualidade de sua vida política
e cultural. Essas insuficiências, é claro, decorrem da ausência de sistema de
informações confiáveis e universalizáveis, o que, em si mesmo, já é parte da
explicação que se busca: qual a razão para que estejamos tão atrasados na cons-
trução de instrumentos capazes de aferir, acompanhar, monitorar indicadores
de qualidade de vida humana, para além do estabelecimento de relações de
causalidade fracas e parciais?” (p. 36)
Como conciliar o discursado objetivo presente nos projetos de desenvolvi-
mento regional de elevação de índices estatísticos de áreas subdesenvolvidas para
que atinjam valores similares aos das regiões centrais (regiões referência) incor-
porando, ao mesmo tempo, cada região, a partir de determinados e dependentes
papéis, numa nova divisão territorial do trabalho? Seria isso, mesmo com vontade
política estatal, possível? Apesar de discursos em prol dos benefícios do desen-
volvimento, novas áreas são incorporadas a uma integração industrial/capitalis-
ta justamente para cumprir um papel específico na, segundo Oliveira (1981, p.
81), “divisão regional do trabalho nacional”. Que prognósticos minimamente
razoáveis e confiáveis poderiam apontar para um processo de superação das ditas
desigualdades regionais através de regionalizações e projetos de desenvolvimento
capitalistas quando sabemos que estas disparidades são, assim como os próprios
modelos institucionais de regionalização estatal, produto de colonialidades do
saber e do poder na construção de interpretações e intervenções na realidade?
Nossa herança colonial não pode ser esquecida, pelo contrário, deve ser en-
fatizada e analisada criticamente como processo cujos desencadeamentos ainda
vivemos. Segundo Souza Neto (2012, p. 3),
ainda hoje, se você para nos pontos de ônibus, tem gente que diz mais ou
menos assim: rapaz, se por acaso os holandeses não tivessem sido expulsos do
Brasil, hoje a história seria outra. Mentira! Se fosse a Inglaterra o negócio seria
outro. Mentira! Nós fomos colônia inglesa, parte de nós foi colônia holandesa,
miolo_geografia_UFF.indd 340 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 341
e as coisas eram terríveis, ou mais terríveis do que com os portugueses. Não era
a lógica de ser português ou não, era a lógica colonial.
Ao traçarmos um paralelo reflexivo entre processos de desenvolvimento e re-
gionalização propostos e/ou implantados no território nacional pelo Estado a
partir de uma perspectiva regional, o cerne de nosso questionamento em relação
aos mesmos está, independente de seus diferentes executores, em uma herança
geográfica epistemológica que busca fazer de nós “re-descobridores”. A descolo-
nização do saber geográfico nos exige, nesse caso, responder, em primeiro lugar,
por que produzimos nosso saber e para(m) que regionalizaremos o espaço, para,
a partir daí, produzirmos reflexões e rupturas epistemológicas que nos permitam
dar voz a outras possíveis formas de interpretar e viver a região, segundo raciona-
lidades, representações e práticas plurais, resistentes e emancipatórias.
Referências
ALBUQUERQUE JÚNIOR, Durval Muniz de. O objeto em fuga: algumas refle-
xões em torno do conceito de região. In: <http://www.cchla.ufrn.br/ppgh/docen-
tes/durval/index2.htm>. Acesso em 5 de setembro de 2012
ANDERSON, Benedict R. Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a
difusão do nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 330 p.
BAULIG, Henri. A geografia é uma ciência? In: CHRISTOFOLETTI, Antonio
(Org.). Perspectivas da geografia. São Paulo: Difel, 1985, p. 59-70.
BORNHEIM, Gerd. O conceito de descobrimento. Rio de Janeiro: Ed UERJ,
1998. 85 p.
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. São Paulo: Ática, 1983. 191 p.
ESCOBAR, Arturo. La invención del Tercer Mundo: construcción y desconstruc-
ción del desarrollo. Bogotá: Editorial Norma, 1996.
FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001. 93p.
GOMES, Paulo Cesar da Costa. Culturas teóricas, culturas políticas no pensa-
mento geográfico. In. CASTRO, Iná Elias de et al. (Org.). Redescobrindo o Brasil:
500 anos depois. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.
miolo_geografia_UFF.indd 341 30/01/17 17:16
342 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
HAESBAERT, Rogério; PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A nova des-or-
dem mundial. São Paulo: UNESP, 2006. 160 p.
HAESBAERT, Rogério. Regional-global: dilemas da região e da regionalização na
geografia contemporânea. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 208 p.
HARTSHORNE, Richard. Propósitos e natureza da geografia. São Paulo: EDUSP/
Hucitec, 1978. 203 p.
HALL, S. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte:
UFMG, 2003.
HARVEY, David. A produção capitalista do espaço. São Paulo: Annablume, 2005.
252 p.
LACOSTE, Yves. Geografia: isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra.
Campinas: Papirus, 1988. 263 p.
MORAES, Antônio Carlos Robert. A gênese da geografia moderna. São Paulo:
Hucitec/Annablume, 2002. 206 p.
MOREIRA, Ruy. O que é Geografia. São Paulo: Brasiliense, 2009. 94 p.
MOURA, Margarida Maria. Os deserdados da terra: a lógica costumeira e judicial
dos processos de expulsão e invasão da terra no sertão de Minas Gerais. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 1988. 250 p.
MIGNOLO, W. Histórias locais / projetos globais: colonialidade, saberes subalter-
nos e pensamento liminar. Belo Horizonte: UFMG, 2003.
OLIVEIRA, Francisco de. Elegia para uma re(li)gião: Sudene, Nordeste, planeja-
mento e conflitos de classes. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 137 p.
ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense,
2003. 148 p.
PIRES, Élson L. S. As lógicas espaciais e territoriais do desenvolvimento: deline-
amento preliminar dos aspectos históricos, teóricos e metodológicos. In: FER-
NANDES, Bernardo Mançano et al. Geografia agrária: teoria e poder. São Paulo:
Expressão Popular, 2007, p. 55-82.
miolo_geografia_UFF.indd 342 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 343
PAULA, João Antônio de. Desenvolvimento: tentativa de conceptualização. In:
SOUZA, João Valdir de; NOGUEIRA, Maria das Dores Pimentel. Vale do Jequi-
tinhonha: desenvolvimento e sustentabilidade. Belo Horizonte: UFMG/PROEX,
2011, p. 32-50.
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. De saberes e territórios. Diversidade e
emancipação a partir da experiência latino-americana. In: GEOgraphia, Ano 8, n.
16, 2006, p. 41-56.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina.
In: LANDER, Edgardo. A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais.
Buenos Aires: CLACSO, 2005, p. 227-278.
SAID, Edward W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Pau-
lo: Companhia das Letras, 2007. 521 p.
SOUSA SANTOS, Boaventura de. Do pós-moderno ao pós-colonial. E para além
de um e de outro. Conferência de Abertura do VIII Congresso Luso-Afro-Brasilei-
ro de Ciências Sociais, 2004.
SHIVA, Vandana. Monoculturas da mente: perspectivas da biodiversidade e da
biotecnologia. São Paulo: Gaia, 2003. 240 p.
SILVA, Dalva Maria de Oliveira. A arte de viver: riqueza e pobreza no médio Je-
quitinhonha – Minas Gerais de 1970/1990. São Paulo: Educ, 2007. 264 p.
SOUZA NETO, Manuel Fernandes de. A história da geografia no Brasil. Dis-
ponível em: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/tamoios/article/viewFi-
le/570/618. Acesso em: 12 de fevereiro de 2012.
miolo_geografia_UFF.indd 343 30/01/17 17:16
miolo_geografia_UFF.indd 344 30/01/17 17:16
Memória, imaginário descolonial e aura da arte
e da cultura popular na nossa América
Claudio Barría Mancilla
Cultura, memória e identidade na encruzilhada do público do espaço
De trajetórias íntimas ou particularizadas da minha experiência, definidas ora
pela indagação da razão, ora pela intuição não desprovida de afetos e memórias
corpóreas, emergiu a lembrança nítida de uma noite de verão em Recife, na Praça
de São Pedro, em uma “Terça Negra”226. Passei aquela noite dançando ao som
dos tambores africanos, animados nas mãos de particulares brasileiros negros per-
nambucanos. Os corpos, a cidade iluminada, o suor, o povo reunido em sacra
comunhão em torno ao batuque ancestral me fizeram pensar, por contraste, na
crueldade de uma sociedade que tira dos seus filhos o que de mais rico possuem.
Submetendo-os à repetição compulsória das técnicas de produção alheias, esvazia
os corpos da voluptuosa e subversiva vida que, às vezes, ainda ecoa nos cantos
ancestrais. Assim, aquela noite me fez pensar de que maneira essa liminaridade do
pensamento subalterno, forçado à dupla consciência, se dá nas formas de relação
social e, principalmente, na corporeidade, e de como eles – corpo e pensamento
– mudam quando se produz o espaço necessário ao fazer criativo ancorado na tra-
dição viva, no sentido apontado por Mariátegui (1990a). Não era acaso a aura da
própria diáspora afro-brasileira que dançava junto a nós naquela noite? Nada vi
que fizesse lembrar os tímidos corpos da empregada doméstica que vai de Caxias
à Zona Sul do Rio de Janeiro, nem o do menino magricelo que se esconde atrás
de um foguete para dar o sinal quando a polícia for subir o morro. Vida e incrível
sentimento de pertença vi espalhados na Praça de São Pedro, no centro de Reci-
226 Festa popular da cultura afro-brasileira que ocorre toda terça-feira na Praça de São Pedro, centro de Recife.
miolo_geografia_UFF.indd 345 30/01/17 17:16
346 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
fe. Mas, que trajetórias, articuladas em processos de r-existências, compuseram
a tessitura não institucionalizada que reinventa a cidade, reordenando desejos,
saberes, usos e poderes?
O lugar da cultura, como elemento articulador de identidade, ou melhor, de
pertencimento, opera como marca corporal que aparece na postura, no caminhar,
nas roupas, pertencimento que carrega vida e dignidade. Assim no Maracatu, na
Capoeira, assim no Jongo, assim no Circo. Esta hexis corporal, no conceito de
Bourdieu (2000), faz parte do habitus227 que permite aos sujeitos um desenvolvi-
mento relativamente autônomo dentro dos diversos campos sociais. Este habitus
ao que me referi não opera no sentido de estruturas invariantes, mas como uma
matriz geradora, historicamente constituída, que funciona como operador de ra-
cionalidade, dentro dos limites das suas estruturas. No meu argumento, a com-
preensão dos limites das racionalidades geradas pelo habitus histórico dos diversos
sujeitos228, grupos e classes sociais, com relação a uma “racionalidade universal”,
da qual estariam afastadas justamente pelo seu caráter eminentemente prático, é
uma questão político-epistêmica da qual tentamos nos aproximar ao compreen-
der o conceito de colonialidade do saber, que escancara a arbitrariedade da pretensa
separação entre os saberes científicos e os gerados no cotidiano das relações sociais
pelos grupos na subalternidade.
Classe, experiência e relação no imaginário das culturas subalternas
A noção de relação, como posta por Thompson (1963) para definir classe so-
cial, salienta a importância de se observar o fluxo histórico, o movimento dinâ-
mico de algo que não está dado por definição, mas que pode ser observado nesse
movimento, “como qualquer outra relação, é algo fluído que evade a análise se
tentarmos imobilizá-la a qualquer momento determinado e dissecarmos sua es-
trutura”229. Trata-se de algo que não existe sem as pessoas concretas e do modo
227 Segundo Wacquant, o habitus é uma noção mediadora que ajuda a romper com a dualidade de senso
comum entre indivíduo e sociedade ao captar “a interiorização da exterioridade e a exteriorização da inte-
rioridade”, ou seja, o modo como a sociedade se torna depositada nas pessoas sob a forma de disposições
duráveis, ou capacidades treinadas e propensões estruturadas para pensar, sentir e agir de modos determina-
dos, que então as guiam nas suas respostas criativas aos constrangimentos e solicitações do seu meio social
existente.
228 Sejam estes coletivos individualizados pela incorporação social ou indivíduos biológicos incorporados pelo
processo de socialização.
229 THOMPSON, 1963, p. 9. Texto original em inglês, traduções próprias.
miolo_geografia_UFF.indd 346 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 347
como estas percebem a si mesmas e a sua condição. Para Thompson a classe acon-
tece quando algumas pessoas, como o resultado de experiências comuns (herdadas ou
partilhadas), sentem e articulam a identidade de interesses entre si, e contra outros
cujos interesses diferem e se contrapõem aos seus230. Assim, é interessante para
nossa reflexão perceber como ele diferencia claramente a experiência de classe da
consciência de classe:
A experiência de classe é determinada, em boa medida, pelas relações de pro-
dução em que os homens nasceram – ou foram introduzidos involuntariamen-
te. A consciência de classe é a forma como essas experiências são tratadas em
termos culturais: encarnadas como tradições, sistemas de valores, ideias e for-
mas institucionais. Se a experiência aparece como determinada, a consciência
de classe não. (THOMPSON, op. cit., p. 10)
Cabe se perguntar, pensando “desde este lado do mundo”, como nos convi-
dara Milton Santos, pelas experiências comuns aos homens e mulheres das classes
subalternas nos últimos, digamos, quinhentos anos: onde foram parar? Pensando
estas relações históricas no contexto da nossa América, emerge a necessidade de
enfrentar o ocultamento historicamente produzido pela colonialidade do poder
e do saber, decorrente do papel dado à região no longo processo de consolidação
do Sistema-Mundo moderno/capitalista/colonial.
Observar a nossa história, considerando as mais diversas trajetórias dos povos
originários na sua relação com as diversas formas que adotou a expansão dos mer-
cados europeus até a consolidação das sociedades moderno-coloniais, passando
pela invasão/colonização até o imperialismo e seus desdobramentos no mundo
globalitário, permitir-nos-ia perceber que para analisar as condições de classe nas
nossas sociedades é preciso conhecer e estudar o desenvolvimento dessas traje-
tórias, enquanto experiências específicas que conferem sentido de vida e de luta
às atuais relações sociais. O conjunto de imaginários e sentidos dados a partir
das experiências vivenciadas por essas trajetórias subsistem, de forma explícita ou
imanente, no cotidiano do povo hoje, produzindo e reinventando a vida-em-re-
lação na totalidade-mundo. Perceber-se em-relação com essas trajetórias, e assim
partilhar do sentido último dessas experiências é, para o educador/pesquisador
engajado no processo de descolonização/libertação, tão importante quanto o es-
230 Idem.
miolo_geografia_UFF.indd 347 30/01/17 17:16
348 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
tudo e o conhecimento antes assinalados. Não basta apenas introduzir a noção
thompsoniana de experiência se a restringirmos ao contexto, suposto, de uma
normalidade moderna uniforme e universal, isto é, se cedermos ao imaginário231
da moderno-colonialidade, desconhecendo os efeitos diretos ou indiretos do con-
texto multicultural em que estamos inseridos, no cotidiano vivenciado por ho-
mens e mulheres comuns.
O cuidado demonstrado por Thompson para com o estudo de povos tão pró-
ximos à realidade por ele estudada (como os escoceses e os galeses com relação
à classe trabalhadora inglesa), dado o seu entendimento – que partilho comple-
tamente – de que “classe é uma formação tanto cultural quanto econômica”232,
não tem impedido, curiosamente, que parte da literatura acadêmica que tem no
seu trabalho uma referência, utilize suas categorias sem dar a necessária atenção
às experiências de homens e mulheres dos povos e grupos sociais subalternos que
formaram a força de trabalho no Brasil e na América Latina. Para certa ortodo-
xia marxista a classe trabalhadora parece ser apenas uma categoria fechada que
define a inserção em determinado modo de produção. Parece crer-se indiferente
se as pessoas que se encontram inseridas no modo de produção capitalista, como
trabalhadores, estão por sua vez inseridos, ou não, nem de que modo, em lon-
gas tradições comunitárias para cuja formação convergiram povos originários,
africanos escravizados, libertos, quilombolas etc. Ou se são imigrantes ou filhos
de imigrantes da nossa América ou da Europa, de onde vieram após traumáticas
experiências homólogas de inserção nos modos de produção/exploração nos seus
locais de origem. Dá-se por suposto – um suposto que não encontra nenhum sus-
tento lógico, histórico ou sociológico – que as longas trajetórias históricas destes
povos, no seu processo de inserção forçada e subalterna no mundo do capital,
urbano ou rural, deixaram num passado longínquo todas suas cosmovisões, sua
cultura, suas ideias e modos de organização da vida.
O homem ou a mulher guarani-kaiowá, por exemplo, que por diversos moti-
vos migra à cidade, desaparece em meio à multidão, junto com o desaparecimento
da sua língua, da sua história, da sua tradição, da sua experiência. A comunidade
quilombola que viu a cidade grande crescer até transformar suas terras em perife-
ria de um centro cuja força é centrípeta na exploração do trabalho e no consumo
231 Utilizo imaginário no sentido apontado por Glissant, na sua “Poética da relação”, como a construção sim-
bólica por meio da qual uma comunidade (racial, nacional, imperial, sexual etc.) define a si própria.
232 Op. cit., p. 13.
miolo_geografia_UFF.indd 348 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 349
e centrífuga quanto a direitos e dignidade, passa a ver seus membros atraídos/
expelidos por esta força, assim como sua experiência coletiva também desconsi-
derada pelos que “sabem”, tendo assim sua cultura invisibilizada. Os milhares de
soldados negros e indígenas, sobreviventes das empreitadas militares brasileiras na
segunda metade do século XIX e de Canudos, em fins do mesmo, recém-libertos
que passaram a ocupar os morros das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo,
assim como aqueles que por anos e anos trabalharam nas plantações de cacau, café
e açúcar, indo depois superlotar as periferias e os morros de Salvador, na Bahia,
em que momento exato perderam absolutamente toda a sua experiência secular
acumulada? Trata-se de um esquecimento ou de um apagamento epistêmico?
Embora sua riqueza e diversidade, embora seus saberes ancestrais que clara-
mente conferem modos de organização da vida específicos em cada local, passam
todos e todas, como num passe de mágica, a serem vistos, considerados e estudados
– não apenas na perspectiva do grande capital explorador, mas para todos os fins
que interessam à questão social (seja para o estudo dos processos de estruturação
socioeconômica das sociedades, como para a formulação e implementação de po-
líticas públicas) e inclusive por boa parte da escolástica de esquerda – como mais
um trabalhador assalariado, sub ou desempregado. Trabalhador ao qual correspon-
deria determinado conhecimento e educação para cumprir sua função econômica
subalterna ou, então, e do mesmo modo, ao qual corresponderia uma determinada
“consciência de classe” para assumir seu papel na revolução social. A ortodoxia
opera, no sul do mundo, atravessada por uma colonialidade que impõe crua e
radicalmente sua cegueira sobre a complexidade da vida no nosso continente.
O que significa, afinal, ter a miscigenação como conceito de identidade nacio-
nal se se está compelido a definir a própria identidade a partir de um imaginário
colonial que nega toda memória que não a matriz colonial? A lógica disciplinar
contribui também com o processo de ocultamento ao separar a cultura da socio-
política e da economia. O holocausto dos povos originários na nossa América é
um fato negado, mas inegável. Entretanto, o mesmo não foi, nem de longe, total,
ao ponto de apagar a experiência dos seus herdeiros. Centenas de milhares de ho-
mens e mulheres destes povos sobreviveram e continuaram sua caminhada como
povos. Outras tantas se miscigenaram fazendo parte do que hoje somos. A ideia
do extermínio serve, todavia, para reforçar a falsa ideia de que a experiência de
vida dos povos originários se perdeu num passado hoje totalmente folclorizado,
desprovido assim de atualidade política.
miolo_geografia_UFF.indd 349 30/01/17 17:16
350 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
É curioso, desde uma perspectiva histórica que acompanhe a trajetória dos
povos da nossa América, perceber como os debates sobre os modelos de sociedade
e da possibilidade de emancipação ou superação do capitalismo encontram-se,
no âmbito acadêmico, político e tecnocrático, totalmente restritos à análise das
condições intrassistema ou a elementos que podem se desprender das contradições
estudadas com base numa produção intelectual eurocentrada, relegando toda a
tradição da nossa América mais profunda ao campo do folclórico, pitoresco ou
mesmo esotérico. No entanto, a tradição comunitária, ou comunitarismo, por
citar apenas um exemplo, constitui nas suas mais diversas formas a base da orga-
nização societal dos povos originários e, não por acaso, encontra-se presente nas
suas demandas e no seu projeto de sociedade. Nas palavras de Eduardo Galeano,
A comunidade, o modo comunitário de produção e de vida, é a mais remo-
ta tradição das Américas, a mais americana de todas: pertence aos primeiros
tempos, às primeiras gentes, porém também pertence aos tempos que vêm e
pressente um novo Novo Mundo.
Todavia, este modo peculiar de produção e de vida não se encontra apenas nas
comunidades remanescentes de indígenas ou quilombolas, ou ali onde os povos
e nações do Abya Yala conseguiram reatualizar politicamente sua luta. Indepen-
dentemente da origem de determinadas práticas sociais, bem como de todo um
léxico relativo a elas, que implica um modo de enunciação do mundo, muitas
delas permanecem nas periferias e comunidades populares urbanas. Relativas ao
modo comunitário, seguindo o exemplo, podemos encontrar em Oaxaca, no sul
do México, o Tequio (palavra de origem Zapoteca), que se refere ao trabalho co-
munitário. O Tequio, junto com a Guelaguetza, têm servido de pilares para uma
reorganização dos modos de gestão e participação nos municípios autônomos. O
conceito seria o equivalente ao de “mutirão” no Brasil (palavra de origem Tupi,
adaptada ao português brasileiro) ou “Malón” no Chile e no Sul da Argenti-
na (palavra do Mapudungun, língua dos Mapuche). É interessante observar que
encontramos unicamente em línguas dos povos originários palavras relativas a
esse significado, que se assemelha à ideia ocidental de trabalho solidário, mas que
inclui um importante componente comunitário de reciprocidade e de celebração,
não encontrado em nenhum vocábulo das línguas coloniais.233 O tipo de trabalho
233 Cabe realizar um estudo mais aprofundado sobre o tema, que por falta de espaço não desenvolvo aqui.
miolo_geografia_UFF.indd 350 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 351
ao qual fazem referência o Tequio, o Malón e o Mutirão não é concebido como
doação a outrem, mas como energia destinada à própria coletividade da qual se
faz parte, isto é, tem como base e ponto de partida a ideia do nós como célula
social básica.
Estes exemplos nos alertam, entre outras coisas, para a importância das noções
de experiência e relação histórica (Thompson), bem como as de subalterno, cultura
popular, contracultura e hegemonia (Gramsci): se no contexto das sociedades ca-
pitalistas do Centro são fundamentais para fugir a uma leitura tosca e mecânica
de classe e consciência, no contexto da nossa América, dado o papel que o extra-
tivismo ocupa no sistema-mundo (desde a invasão europeia até os nossos dias) e
dada a colonialidade do saber que lhe é intrínseca, a inclusão da experiência nos
estudos sociais se torna vital, notadamente para encontrar um lugar de enuncia-
ção que permita a descolonização do pensamento. Já o alargamento do conceito
de relação, considerando a diferença colonial (MIGNOLO, 2003), aparece como
condição para a superação das identidades atávicas que trazem consigo a intole-
rância e a perpetuação da negação do outro.
Trata-se de entender que, para além das matrizes culturais que confluem
em cada momento histórico – a ocidental eurocêntrica, as dos povos originá-
rios, ameríndios, africanos, asiáticos – todas elas se encontram, hoje, em relação
(GLISSANT, 1990), em um movimento de ir sendo e se refazendo nessa relação,
reinventando cotidiano e tradição e, assim, sua relação particular consigo e com
o outro. Para nos aproximarmos da estética e da poética da nossa América me
parece fundamental esta compreensão, como condição de fugir aos atavismos e
às categorizações de caráter universalista. É instigante perceber a compreensão de
Glissant a este respeito, quando aponta, na sua “Poética da relação”, que
Não abdicamos às nossas identidades quando nos devemos ao Outro, quando
realizamos nosso ser como participante de um rizoma cintilante, frágil e ame-
açado, mas vivaz e obstinado, que não é uma concentração totalitária onde
tudo se confunde no todo, senão um sistema não sistemático de relação onde
adivinhamos o imprevisível do mundo.234
Todavia, é preciso frisar que para qualquer relação vir a se estabelecer frutí-
fera para todos e todas que nela estão envolvidos, o seu constante ir sendo deve
234 GLISSANT, 1990.
miolo_geografia_UFF.indd 351 30/01/17 17:16
352 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
estar baseado, primeiramente, na existência do Outro, definido na sua alteridade
como um legítimo Outro. É aqui que radica um dos principais empecilhos para
a poética da relação de que nos fala Glissant emergir na sua potência civilizatória,
sob risco de se tornar ou ser utilizada – mesmo contra toda sua intenção e sus-
tentação teórica – como uma utopia essencialista que, obliterando os imaginários
subalternizados pela colonialidade do saber, contribua para a consolidação do
projeto universalista eurocêntrico. Não seria questão, então, de afirmar a pureza
das culturas dos povos originários ou africanos, nem de negar o hoje onipresente
imaginário do Ocidente, menos ainda de atribuir a ele a autoria exclusiva e exclu-
dente do Norte, mas, justamente, de perceber o papel dessas culturas na constru-
ção do imaginário da modernidade/colonialidade desde este específico lugar que,
por norma ou omissão, ainda chamamos América latina.
Contemporaneidade, tradição e Aura da cultura popular em chave
descolonial
Esta primeira reflexão sobre experiência, classe social e relação na diferença
colonial nos permite arriscar uma releitura das mudanças nos modos de percep-
ção estética a partir do lugar da arte e da cultura popular na nossa América. Sem
dúvida, os moinhos de vento da estética francesa são outros que aqueles que as-
sombram o universo simbólico da arte equatoriana, por exemplo.
Cabe se perguntar: qual o lugar da tradição e qual o da contemporaneidade nas
sociedades miscigenadas da Nossa América? Onde se encontra, afinal, essa arte e
essa cultura indígena, africana e afro-brasileira após quinhentos anos de epistemi-
cídio? Uma velha pergunta que atravessa o fazer criativo ligado geopolítica e afe-
tivamente às classes populares na nossa América recobra atualidade, redesenhada
de sentidos e transversalidades neste século XXI globalizado e mais tensamente
intercultural do que nunca antes: seria o preço de acedermos com legitimidade
e voz ativa à modernidade-mundo o de aceitarmos a “cultura de massas” que ela
tem produzido ou então subsumir ao classicismo estético eurocêntrico?
Podemos entender a própria globalização – enquanto ponto culminante da
expansão do capital a escala planetária – como um rearranjo geocultural, no qual
incidem das mais diversas formas, ora impostos, ora subalternos, ora hegemôni-
cos, ora emergentes, todos os projetos estéticos e os complexos de significação da
vida de cada cultura, inter-relacionados de maneira tensa, crítica. O elo condu-
tor desse rearranjo geocultural do sistema-mundo moderno, como subjetividade
miolo_geografia_UFF.indd 352 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 353
hegemônica, objetivada pelos discursos e, principalmente, pelas instituições, está
dado pelo projeto da modernidade eurocênctrica/colonial e a sua hierarquização
de fazeres e saberes, isto é, pela própria colonialidade do poder, do saber e do ser.
Daí a importância e a centralidade de voltar nossa reflexão e nossa prática para
descolonizar essa geopolítica do gosto e da estética.
Para uma primeira reflexão sobre o papel da tradição na obra de arte, propo-
nho partir do conceito benjaminiano de Aura, e das suas categorias de valor de
exposição e valor de culto para analisar a função social da arte e sua relação com as
formas de produção de cada período histórico (BENJAMIN, 1985). Proponho
este ponto de partida para, com base na contextualização das transformações na
percepção e na função social da arte, tentar, posteriormente, costurar a trama per-
cepção/produção estética; cultura popular ou subalterna; memória e subversão,
em busca de uma redefinição – tensionando uma perspectiva descolonial – do
lugar da arte e da cultura popular e sua contraposição à subjetividade imposta
pelo tempo acelerado da modernidade/colonialidade.
A história da obra de arte compreende desde sua estrutura física e transforma-
ções no decorrer do tempo até as relações de propriedade das quais fez parte. Se é
na unicidade da obra de arte que vive sua história, pode-se definir a autenticidade
de um objeto como “a quintessência de tudo que foi transmitido pela tradição,
a partir de sua origem, da sua duração material até o seu testemunho histórico”
(Idem, p. 168). O aqui e agora da obra de arte autêntica é definido como sua Aura.
Benjamin desenvolve sua teoria em um contexto marcado pela ascensão do
Nazismo na Alemanha, cujo projeto consistia, precisamente, na estetização da
sociedade a partir do cânone clássico, aliado a uma forte veneração da tecnologia,
partilhada pelo fascismo italiano. Esta mistura fazia surgir uma nova estética da
modernidade clássica levada ao extremo, cujos efeitos diretos escancaravam de
modo cruel e profundo o lado mais assustador da arte, o lado horrível da beleza.
A realidade vivenciada leva Benjamin a perceber que,
[a] existência [dos bens culturais] não se deve somente ao esforço dos grandes
gênios, seus criadores, mas também, à corveia sem nome de seus contemporâ-
neos. Nunca há um documento da cultura que não seja, ao mesmo tempo, um
documento da barbárie. E, assim como ele não está livre da barbárie, também
não o está o processo de sua transmissão, transmissão na qual ele passou de um
vencedor a outro. (BENJAMIN, apud LOWY, 2005, p. 70)
miolo_geografia_UFF.indd 353 30/01/17 17:16
354 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Benjamin percebe que, ao ser reproduzida, perde-se junto à materialidade da
obra de arte também o seu testemunho histórico: na era da reprodutibilidade
técnica o que se atrofia é a sua aura. Ou seja, a reprodução técnica de um objeto o
desvincularia da sua tradição. Dado o contexto histórico mencionado, o pensador
alemão se insurge contra a tradição cultural, presente no modo de ser aurático da
obra de arte, advogando pela reprodutibilidade técnica.
Para embasar o conceito da destruição da aura, Benjamin parte da premissa
de que a forma de percepção das coletividades humanas se transforma através de
grandes períodos históricos como seu modo de existência. Especificando a defini-
ção de aura como uma singularidade espaçotemporal, como “a aparição única de
uma coisa distante, por mais perto que ela esteja” (BENJAMIN, op. cit., p. 170),
parece ficar mais claro de que maneira e quais fatores sociais condicionam o de-
clínio da aura. É fácil constatar na difusão e intensidade da cultura de massas235 a
apaixonada preocupação por fazer as coisas ficarem mais próximas, assim como a
tendência à superação dos fatos através da sua reprodução, como a superexposição
da informação na mídia, descontextualizando fatos e situações. Este fenômeno
se faz também extensivo a todo tipo de bens de consumo e objetos de arte. A
possessão da cópia, a imagem, ou melhor, a reprodução do objeto parece hoje
mais importante do que a própria existência do objeto autêntico. Um extremo
desse processo pode se encontrar hoje na superexposição de imagens e conteúdos
fragmentados nas redes sociais de internet.
Benjamin percebeu que na reprodução se associam a transitoriedade e a repeti-
bilidade. A lucidez da sua análise parece prever a saturação de imagens veiculadas
pela grande mídia televisiva e a digital, invadindo todos os espaços do cotidia-
no, para muito além do seu papel na sala de estar, já denunciado por Adorno e
Horkheimer na década de 1960. Como em um filme de ficção científica, a re-
produção de imagens satura ininterruptamente o cotidiano urbano, por meio de
aparelhos de televisão dispostos em restaurantes, bares, cafés, centros comerciais,
repartições públicas, delegacias de polícia, ônibus, hospitais, aeroportos e até ba-
nheiros. Benjamin reconhecia na sua época uma nova forma de percepção carac-
terizada pela extração do objeto do seu invólucro, pela capacidade de reconhecer
235 Uso aqui o conceito de “cultura de massas” no sentido dado pela escola de Frankfurt, na perspectiva de
Benjamin, preservando a localização das suas reflexões em um contexto histórico determinado. Para uma
crítica ao conceito de cultura popular como cultura de massas encontrado em Adorno, ver BARRIA MAN-
CILLA, 2014.
miolo_geografia_UFF.indd 354 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 355
“o semelhante no mundo” a ponto de, através da reprodução, conseguir fazê-lo
no fenômeno único (op. cit., p. 170). Para analisar as mudanças nos modos de
percepção estética ao logo da história da arte Benjamin propõe a relação dialética
entre Valor de Culto e Valor de exposição, estudando a importância conferida a
cada um destes polos nos diferentes períodos históricos. Ao colocar que a mu-
dança de polo produzida naquela época era radical a ponto de ser comparada à
produzida na pré-história, diz, quase profeticamente:
(...) assim como na pré-história a preponderância absoluta do valor de culto
conferido à obra levou-a a ser concebida em primeiro lugar como instrumento
mágico, e só mais tarde como obra de arte, do mesmo modo a preponderância
absoluta conferida hoje ao seu valor de exposição atribui-lhe funções inteira-
mente novas, entre as quais a “artística”, a única de que temos consciência,
talvez se revele mais tarde como secundária. (idem.)
Na sua visão, uma destas novas funções, que viria a assumir a preponderância,
seria a função política, num sentido transformador, revolucionário. Oitenta anos
mais tarde, podemos constatar que a transformação radical do modo de percep-
ção esteve determinada por uma revolução não esperada nem prevista naquele
momento: a revolução capitalista neoliberal que transformou, nas últimas três
décadas do recém-passado milênio, a forma de acumulação do capital. Refiro-me
à transformação do modo de acumulação de capital industrial, que tinha como
referente político estrutural o estado bem-estar, vigente até a crise do petróleo no
início da década de 1970, para o modo de acumulação de capital especulativo,
que impôs seu referente ideológico: o neoliberalismo.
Todavia, não foi, apenas, a mudança de fase do capital o que provocou a
mudança mais profunda, mas, como aponta Manuel Castells (1999a, p. 411), a
convergência de três processos independentes. A reformulação da sociedade ca-
pitalista somada à chamada revolução das tecnologias da informação e ao apogeu
de movimentos sociais e culturais, – como os libertários, os antiglobalização, de
direitos humanos, o feminismo e o ambientalismo – teriam feito surgir, nas três
últimas décadas do recém-passado milênio, uma nova estrutura social dominante:
a sociedade em redes. Nas palavras do sociólogo catalão, “uma nova economia,
a economia informacional/global; e uma nova cultura, a cultura da virtualidade
real. A lógica inserida nessa economia, nessa sociedade e nessa cultura está subja-
miolo_geografia_UFF.indd 355 30/01/17 17:16
356 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
cente à ação e às instituições sociais em um mundo interdependente” (idem). Este
complexo processo operou profundas transformações na forma de percepção, cir-
culação e consumo das produções artísticas e da cultura de um modo geral, nas
sociedades inseridas no sistema-mundo moderno, mesmo nas mais atávicas. As
tradições imanentes nas práticas sociais nos lugares passam a se ver mais agredidas
e ameaças do que nunca antes.
Parece-me ser este um fator fundamental para se compreender a relação desse
processo de transformações com as produções culturais e artísticas na subalter-
nidade-mundo, num contexto de globalização, notadamente na América latina
e Caribe. São modos da relação local/global, tempo lento/tempo rápido (SAN-
TOS, 1994), tradição/fugacidade imagética, eu/nós-eu (Elias, apud TORRES,
2005), centro/periferia, metrópole/ex-colônias, e suas variantes locais/regionais
de colonialismo interno, definidas pela colonialidade do saber, inerente ao siste-
ma-mundo moderno. Relações estas que se fazem sentir no cotidiano das pessoas
e das comunidades.
Aquela função nova e superior, ou preponderante, da obra de arte (e, por
extensão, da estética e da cultura), apontada por Benjamin, é hoje hegemonica-
mente dada pelas formas de inserção adotadas pelos fluxos do mercado. Unívoco
e onipresente, o mercado, como fetiche implícito e central da sociedade do capital,
exacerbado ao extremo na globalização neoliberal, passa a impor sua dinâmica à
relação do indivíduo com todos os elementos da sua realidade social. Do mesmo
modo, tensiona sob a sua lógica o fazer dos coletivos, compelindo-os a absorve-
rem seus critérios de competência e exponibilidade – e seus códigos de competi-
tividade, consumismo e individualismo – como condição de reconhecimento e
inserção na chamada cadeia produtiva da cultura. Assim, uma obra de arte é ava-
liada justamente pelo seu grau de exponibilidade, segundo critérios e condições
sociais determinados, ou seja, pela capacidade de ser comercializada.
É claro que as sociedades atuais são complexas e multiformes, e atravessadas
por tensas relações interculturais que as alargam de sentidos. Porém, como nos
alerta Ana Clara Torres (2005), é justamente essa subjetividade hegemônica do
capital financeiro, sustentada na crença de que a rapidez, o consumo personali-
zado, o acesso a objetos sofisticados, o usufruto de corpos hiperproduzidos e o
conforto das grandes redes hoteleiras sejam metas potencialmente partilhadas
por todos os povos e culturas, a que vem agredindo o tecido de relações societá-
rias e seus acervos culturais de longa e lenta decantação – sentido comunitário,
miolo_geografia_UFF.indd 356 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 357
solidariedade e partilha, identidade cultural e seus imaginários, redes parentais
e locais etc.
Não é difícil hoje, constatar, por exemplo, a preponderância da reprodução de
espetáculos cênicos para sua teledifusão, determinando em grau cada vez maior
a estética e os critérios de exponibilidade dos próprios artistas em cena. Não é
raro encontrar situações em que a própria possibilidade de sucesso ou fracasso de
uma peça teatral dependa de que seus atores pertençam a elencos de telenovelas
de grandes redes de televisão. Para Mariátegui (1990a) “a arte encontra-se num
período de modas”, e não errava, embora não tivesse como imaginar sequer que
“essa moda pegaria”, ao ponto da sua ética e sua estética se tornarem parte de
uma complexa estrutura simbólica estruturante. A função última da obra de arte
na cultura de massas na sociedade pós-industrial é a de ser vendável. Qualquer
produção estética tem de navegar, neste contexto, a contrapelo da saturação ima-
gética e da manipulação do desejo que invade o cotidiano, e assim da barreira
de ininteligibilidade posta pela superficialização das relações sociais. A memória
recua como nunca antes tinha-se percebido.
Paulo Freire percebia a radicalidade da mudança trazida pela globalização ne-
oliberal: a sua usurpação da memória e da identidade dos comuns e, assim tam-
bém, a importância disso tudo para a prática educativa,
Há um século e meio Marx e Engels gritavam em favor da união das classes
trabalhadoras do mundo contra sua espoliação. Agora, necessária e urgente
se fazem a união e a rebelião das gentes contra a ameaça que nos atinge, a da
negação de nós mesmos como seres humanos submetidos à “fereza” da ética
do mercado.236
Estética, memória e constituição do tecido social formam um entrelaçado in-
dissolúvel. Parto do entendimento de que a memória coletiva é estimulada, cons-
truída e preservada pelas experiências compartilhadas, pelos sabores e os gestos,
laços sociais, políticos e afetivos tecidos em longos e lentos processos de relações
copresenciais que vão se redefinindo e constituindo o nós ontogênico que dá sen-
tidos de existência a uma comunidade comunicativa237 ou grupo social, tornan-
do-se, em tempo, um aspecto vital da ação educativa.
236 FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e terra, 1996, p. 128.
237 Como em Dussel (2007), a partir de Habermas.
miolo_geografia_UFF.indd 357 30/01/17 17:16
358 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Em tempos de fugacidade imagética, a memória pode parecer um fardo pe-
sado demais para se carregar. Todavia, a disputa pela memória dos povos parece
não se dar mais apenas na disputa pela versão oficial, mas pela superexposição que
através da reprodutibilidade técnica transmuta a sua historicidade, esvaziando
qualquer símbolo da sua atualidade política.
Entretanto, a só compreensão do efeito transformador da coincidência his-
tórica dos três processos assinalados por Castells é insuficiente para uma com-
preensão do lugar da arte e da cultura popular nesse processo de transformações.
Entretanto, um deslocamento epistêmico pode no permitir perceber uma nova
função social da aura. Isso porque o que está em questão não é apenas o con-
texto, mas o lugar a partir do qual vivenciamos e interpretamos ditas mudanças
e seus efeitos. É preciso tensionar a perspectiva, desde a periferia do sistema-
mundo moderno-colonial, desde aqui. Não apenas desde a complexidade da
condição de sociedades atravessadas pela colonialidade do poder e do saber, mas
da exterioridade do sistema. Sendo a nossa exterioridade ontogênica, não basta
com a nossa percepção imediata, mas, também, é preciso escovar nossa própria
história a contrapelo, como propõe o próprio Benjamin e simboliza o Sankofa
da mitologia africana, que voa com a cabeça voltada para trás, segurando no
bico o ovo do futuro.
Interessa aqui o lugar da cultura popular como lócus de enunciação, sua
memória, sua tradição, seus sentidos, sua ontogênese. Na contramão da ação
fragmentadora de sentidos de pertencimento local e de mercantilização da cul-
tura, a saturação imagética associada ao controle, provocada pela articulação
entre o capital e as tecnociências, encontra a oposição “tanto de práticas sociais
enraizadas nos lugares como dos conhecimentos acumulados pelo denominado,
por Milton Santos (1994), homem lento” (TORRES, 2005). Para Santos, este é
aquele que conhece os lugares e precisa deles para sua sobrevivência, contrapon-
do-se com sua ação contínua de produção de vida e sentidos ao tempo rápido
imposto pela ação global do capital. Esta oposição às mudanças descritas não é,
como muitos gostam de pensar, apenas uma reação conservadora ao progresso e
ao desenvolvimento. Em um sentido diferente e oposto, constitui o ponto cul-
minante, atual, de seculares trajetórias dos povos na nossa América. Os saberes
acumulados por essas trajetórias, ou melhor, por essa trajetória múltipla e em
aparência fragmentária, agora atualizada pelas lutas por identidades, dignidade
e vida (que são de certo modo lutas pelo espaço habitado), emergem carregadas
miolo_geografia_UFF.indd 358 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 359
de sentido, contidas nas práticas sociais enraizadas nos lugares. Trata-se então,
de trajetórias que, em sociedades pós-coloniais, trazem inscritas no seu tecido a
marca da dominação colonial.
A relação com a cultura dominante dos povos colonizados e daqueles seques-
trados das suas terras para serem aqui escravizados tem sido por muito tempo
desconsiderada ou então lida não como relação, mas tidas como entidades cul-
turais estanques, que se excluem mutuamente. Todavia, é a estirpe delas a que
veio configurar as classes populares na nossa América – de diversos modos em
cada país, mais miscigenados em um, mais hegemônicos em outro, mas de forma
transversal e consistente em todo o continente, por mais que a colonialidade do
saber faça muitos se perceberem mais brancos do que de fato somos. O fato é que,
historicamente, as classes populares na nossa América têm sofrido a dominação
colonial dos mais diversos modos, sendo especialmente para os mais excluídos do
sistema, ainda hoje, as mudanças estruturais/institucionais que os países experi-
mentaram, apenas cosméticas.
O tempo longo da colonialidade do poder que, como nos lembra Quijano
(2001), ainda não conclui, significou para “índios”, “negros” e “mestiços” – se-
gundo as categorias coloniais – a experiência de se verem presos entre o padrão
epistemológico próprio e o padrão eurocêntrico, forçados a uma dupla consci-
ência (DU BOIS, 1999) que se transformou em racionalidade instrumental ou
tecnocrática (QUIJANO, 2001). Um certo senso comum acadêmico, atravessado
de colonialidade, considerando o fato destas populações terem sido submetidas
por tantos anos a tamanha alienação, acredita que estas, fora algumas expres-
sões remanescentes de culturas arcaicas (logo desprovidas de atualidade estética
e política), apenas se limitariam à imitação dos cânones eurocêntricos. Assim, as
diferenças entre os cânones estéticos hegemônicos na modernidade/colonialidade
e as produções simbólicas dos colonizados e seus herdeiros dever-se-iam a erros ou
incompetências na sua arte de imitar.
Todavia, não há apenas imitação e reprodução nas culturas subalternas, na
nossa América, mas a constante subversão dos cânones impostos. Para Quijano,
A expressão artística das sociedades coloniais dá clara conta dessa contínua
subversão dos padrões visuais e plásticos, dos temas, motivos e imagens de
alheia origem, para poder expressar a sua própria experiência subjetiva, se não
a prévia, original e autônoma, sim, entretanto, uma nova, dominada sim, co-
miolo_geografia_UFF.indd 359 30/01/17 17:16
360 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
lonizada sim, porém subvertida o tempo todo, convertida assim em espaço e
modo de resistência.238
Esta condição de reinvenção de padrões estéticos devido ao seu desenvolvi-
mento em relação atravessa praticamente toda a história da arte e da cultura da
nossa América e pode ser facilmente observada muito antes dos movimentos que,
no século XX, assumiram abertamente essa postura. No Brasil, o movimento
antropofágico, assim como, na música popular, a Tropicália e mais tarde o Man-
gue Bit, são exemplos paradigmáticos de vanguardas artísticas e intelectuais que
perceberam esta condição. O movimento plasmado no Manifesto antropofágico de
Oswald de Andrade, em 1928, usa a antropofagia como metáfora para significar
essa atitude estético-cultural de “devoração” e assimilação crítica dos valores cul-
turais estrangeiros transplantados ao Brasil, bem como realçar elementos e valores
culturais internos que foram reprimidos pelo processo de colonização: “Só a AN-
TROPOFAGIA nos une. Socialmente. Economicamente. Filosoficamente” (...)
“Já tínhamos o comunismo. Já tínhamos a língua surrealista. A idade de ouro”
(ANDRADE, 1976).239
Todavia, a fonte da qual beberam estes movimentos de vanguarda tem uma
longa tradição no continente. A subversão dos padrões estéticos, sua reapropria-
ção ‘desde cá’, para a produção de uma arte original, defendida por nomes como
Helio Oiticica, Mario de Andrade ou os tropicalistas, entre tantos outros, pode ser
conferida nas danças populares, nas vestes, nos adereços e nas festas de brasileiros,
antilhanos, mexicanos ou no planalto andino. Do mesmo modo, essa subversão dos
padrões pode ser observada na obra do mineiro Aleijadinho, ou na monumental
igreja de Potosí, nos quadros da escola de Quito e Cuzco e mais recentemente nos
murais dos mexicanos Siqueiros, Rivera, Orozco, como também, e de um modo
diverso, nas obras de Guayasamin e Portinari, como também na obra literária de
García-Márquez, Carpentier e Guimarães Rosa, por citar os mais expressivos. E,
por mais que custem a aceitá-la as elites intelectuais locais e os puristas defensores
da tradição, esta característica de reinvenção profundamente criativa, esta postu-
238 QUIJANO, 1998. Quijano desenvolve a questão da relação entre colonialidade do poder, cultura e co-
nhecimento na América Latina, em artigo publicado em 1988 no Anuario Mariateguiano, posteriormente
revisado e compilado em MIGNOLO, 2001.
239 Copia do Manifesto Antropofágico e do Manifesto do Pau-Brasil, de Oswald de Andrade, comentados. Dis-
poníveis em: http://www.ufrgs.br/cdrom/oandrade/oandrade.pdf. Acesso pela última vez em: 10/10/2013.
miolo_geografia_UFF.indd 360 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 361
ra culturalmente antropofágica, continua presente no fazer da cultura popular nas
periferias dos grandes centros. Não é, acaso, um ato antropofágico de subversão
estética o chamado Funk carioca? Como escreveu o próprio Caetano Veloso,
Da eleição do repertório de hits se dando de forma totalmente independente
da programação radiofônica e dos interesses das gravadoras à predominância
da batida umbanda-maculelê sobre o Miami bass, o funk carioca é uma história
de liberdade inventiva cuja importância ainda havemos de saber reconhecer.240
De um modo outro, talvez uma das mais prolíficas fontes de produção estética
e simbólica da cultura popular da América latina e do Caribe, como expressão da
sua implícita subversão cultural, encontre-se nos cultos, rituais, festas e as mais
diversas práticas religiosas de um cristianismo subvertido de sentidos ao ponto de
reinventá-lo profundamente, seja no sincretismo religioso, seja nos modos e na
estética de uma religião que, até então, não aceitava sequer a palavra vernácula
nem os instrumentos musicais, que dirá as danças ou quaisquer expressões do
corpo em transe. Para os modernistas,
Nunca fomos catequizados. Vivemos através de um direito sonâmbulo. Fize-
mos Cristo nascer na Bahia. Ou em Belém do Pará. Mas nunca admitimos o
nascimento da lógica entre nós. (...)
Nunca fomos catequizados. Fizemos foi o Carnaval. O índio vestido de sena-
dor do Império. Fingindo de Pitt. Ou figurando nas óperas de Alencar cheio
de bons sentimentos portugueses. (ANDRADE, 1976)
Todavia, o espírito do Manifesto Antropofágico, absorvido pela elite local
moderna e sua noção eurocêntrica de exotismo, em tempo que inserido como
fragmento de memória no contexto da saturação imagética potenciada pela tec-
nociência midiática, foi dissociado de qualquer leitura dinâmica da potência de
subversão de cânones estéticos inerente à cultura popular, tirando assim sua atu-
alidade política. Aqui como em toda América latina, a colonialidade do poder
continua operando na perpetuação do ocultamento e/ou da subalternização das
culturas populares.
240 Disponível em http://www.caetanoveloso.com.br/blog_post.php?post_id=1455. Acesso pela última vez
em: 10/10/2013.
miolo_geografia_UFF.indd 361 30/01/17 17:16
362 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Assumindo um necessário giro epistêmico, pode-se perceber o caráter revo-
lucionário e essencial da aura de um modo diferente ao encontrado em Benja-
min: uma transmutação do próprio conceito de aura. Na leitura benjaminiana, na
Europa da primeira metade do século XX, a necessidade de politizar a arte, em
contraposição à estetização da política num sentido fascista, o levou a advogar
pela reprodutibilidade e pela eliminação do conceito de originalidade. Da mesma
maneira, neste século XXI que abre passo aceleradamente, emerge ante nós a po-
tência vital e rebelde da aura da arte popular como constatação da vida fora das
fronteiras da monocultura do mercado. O elo se encontra na potência criativa, de
apropriação e de subversão que possui a arte popular, múltipla, inventiva, ances-
tral e antropofágica. Potência esta que lhe permite não apenas sobreviver e resistir,
mas criar onde menos se espera: r-existir.
Há uma história, uma tradição, um momento único contido em cada evento
da arte popular e negado pelo culto ao astro, ao pop-star, montado pela mídia.
Empurrados contra o espelho desfigurador do mercado, condenados cultural-
mente ao mito de Dorian Gray, buscamos uma tábua que nos permita navegar,
sobreviver na vertigem mutante da cultura globalitária. Essa tábua encontra seu
élan na aura da produção estética das classes populares, na cultura popular que re-
siste e r-existe em vilarejos e subúrbios dos ditos países periféricos, como parte da
memória viva de um povo. Memória negada ou reificada pela cultura dominante.
Entretanto, há também, hoje, uma certa tendência à procura por raízes, como
reação perante um mundo globalizado que parece absorver as múltiplas produ-
ções simbólicas, subalternizando-as. Impõe-se a elas a lógica de um suposto mul-
ticulturalismo des-historicizado e asséptico, cujo marco geral é dado pela ideia
de uma neutralidade insossa que opera, de fato, à escala planetária, como uma
gigantesca máquina de pasteurização do fazer de povos, grupos e classes sociais. É
a ideia da igualdade universal, igualdade a um modelo que nega ou subalterniza
a diversidade. Em uma contramão aparente, a procura pela pureza das culturas
atávicas (GLISSANT, 1990), ou das formas pré-industriais das culturas popula-
res, não apenas dificulta a vida em relação, mas opera também, não raro, como
mecanismo de distinção que desqualifica o fazer criativo das classes populares
hoje. No mesmo movimento em que redefine o seu fazer a partir de critérios deli-
mitados pelo ideal de pureza (de qualquer cultura), retira também sua atualidade
ético-estética e, assim, sua potência política e epistêmica imanente.
miolo_geografia_UFF.indd 362 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 363
Mais próxima da perspectiva da interculturalidade crítica, pensar a aura do
fazer popular significa descobri-la contida, mesmo que transmutada ou oculta –
suja e antropofágica – nas formas atuais da arte popular; achá-la não somente nas
suas formas pretensamente puras, mas em todas as expressões que abrem passo
fora do alcance dos holofotes e dos grandes salões, fora do eixo do grande merca-
do, do show-business e dos megaeventos. Ou então, na sua periferia, misturando-
-se, achando modos de continuar sendo, reinventando-se e subvertendo padrões.
Para tal, é preciso, tanto na crítica, na indagação, como no fazer, operar um giro
epistêmico à procura de categorias e critérios outros, ancorado no próprio quefa-
zer criativo. É preciso partir do Sul, em direção ao Sul.
É preciso frisar que a atualidade política da aura da arte e da cultura popular não
se define por critérios de eficácia e eficiência do político. De um modo diferente,
esta ação seria radicalmente alheia a esses critérios, por estarem estes atrelados à
utilização das técnicas de reprodução a serviço de interesses particulares, dentro
da lógica do capital: é esta sua origem e função social no contexto da modernida-
de capitalista/colonial. As ações de pesquisa, crítica e criação simbólica em chave
descolonial teriam, em certa medida, um alicerce no valor de exposição, enquanto
direito do povo a se reconhecer na própria expressão artística, que reflete e contém
sua historicidade, como apontou Benjamin, mas não pode ser submetida aos crité-
rios de reprodutibilidade que potenciam este valor, destituindo a obra da sua aura.
Ali radica a potência política imanente da intervenção artística que disputa o espaço
público urbano, em performances, rodas ou grafites. No mesmo movimento dialé-
tico, tem no valor de culto à história contida na obra de arte popular a restituição
da sua atualidade política. É uma tarefa voltada, assim, também para a memória e
implica uma releitura da tradição. Porém, e pelo exposto, o caráter político da tarefa
parece ser implícito, não explícito. A questão, hoje, não seria a politização da arte
no intuito de torná-la mais eficaz, e sim de atualizar politicamente o valor de culto
ao articular memória e expressão no fazer cotidiano.
A história de cada expressão artística da cultura popular da nossa América é
parte da história das lutas, dos conflitos, das relações sociais que a implicaram. A
ela e à comunidade que lhe deu origem. Essa história secreta do povo brasileiro e
latino-americano emerge nas expressões da sua cultura popular. Desta maneira,
o trabalho de pesquisa, produção, difusão e fruição da tradição popular local/
regional, num momento de globalização dos modos de produção e percepção
capitalistas, implica necessariamente se inserir num ato contínuo de r-existência
miolo_geografia_UFF.indd 363 30/01/17 17:16
364 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
cultural. Não no sentido de encará-la como uma espécie de peça de um museu
vivo, mas no de resgatar sua aura de uma forma vívida, a partir do saber que mana
da experiência, de forma contínua e em relação com o mundo e com o outro.
O entendimento da aura como elemento essencial da historicidade e da uni-
cidade de um determinado grupo subalternizado aparece como potência de afir-
mação/negação dialética da identidade. Negação do que somos, como cultura
“folclorizada” e restrita a um suposto passado pré-industrial; e afirmação do nós
negado, ao assumir a alteridade, na que continuamos sendo a partir do momento
em que fazemos. E fazemos de uma determinada forma que muda, porém con-
servando o modo de ser aurático das nossas tradições, isto é, a forma de ser hoje,
aqui e agora das trajetórias dos povos.
Parece-me haver, assim, uma relação profunda e íntima entre Cultura, Me-
mória e Identidade; para negar a terceira, as duas primeiras são o lugar de uma
intensa luta. Toda cultura é uma trajetória múltipla que se entrelaça e toda memó-
ria é uma narrativa dessa memória. Da mesma maneira, lembra-nos o professor
Carlos Walter Porto-Gonçalves, quem nomeia possui, e o poder de narrar, o lugar
da enunciação, é também palco cuidadosamente zelado. Em uma sociedade gra-
focêntrica, como a nossa, é natural que a memória escrita assuma certa simpatia
com aqueles que dominam o código. Todavia, a nossa sociedade não é apenas
uma, ocidental por antonomásia, como a pretendem suas elites, e não se narra
apenas com palavras. Enquanto o sujeito hegemônico do Ocidente tem a sua his-
tória – e, logo, a sua leitura das histórias subalternas – contada pelas instituições,
pelo direito e mesmo pela ciência (SPIVAK, 2010), registrada nos textos de His-
tória (com maiúscula), os subalternos e oprimidos carregam a sua história inscrita
no corpo, no gesto, nos atos, nas ações, na paisagem e também na palavra. Pri-
vada de “notoriedade” e legitimidade institucional, e por vezes perseguida como
fonte de subversões, a memória dos subalternos encontra refúgio no âmbito do
cotidiano da vida privada e de lá emerge em momentos inesperados, saltando do
espaço privado ao público, em produções estéticas e políticas. É essa não história,
porque negada, de uma estética do invisível aos olhos do Ocidente, a que assume
um lugar outro, insurgente e subversivo, na nossa América, produto das trajetórias
do seu povo, expressa na sua tradição.
É essa memória que escapa, silenciosa e insuspeita, aos códigos do
tradicionalismo conservador, tão combatido por Mariátegui (1990), que entendia
que a tradição é viva e móvel. É nesse entendimento que afirma:
miolo_geografia_UFF.indd 364 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 365
criam-na [a tradição] os que a negam para renová-la e enriquecê-la. Matam-na
os que a querem morta e imóvel, prolongamento do passado num presente
sem forças, para nela incorporar seu espírito e nela transfundir seu sangue.241
Pensando a tradição como patrimônio e continuidade histórica, Mariátegui
diferencia a tradição da concepção aprisionadora do conservadorismo tradiciona-
lista, entendendo que “a tradição é particularmente evocada, e até ficticiamente
monopolizada, pelos menos capazes de recriá-la” (Idem.). A memória, entendida
como dispositivo político afetivo para a ação, desmonta a dicotomia tradição/
contemporaneidade e seu ranço de linearidade histórica e de colonialidade.
A concepção apresentada nos permite diferenciar o conceito de Cultura Popular
dos tantos que a apresentam como resíduo social subalterno. E é esse o sentido que
nos leva a indagar pela aura de r-existência, não nos redutos guetizados onde, pelo
mesmo, a tradição possa se ter “preservado”, de algum modo, reificada, mas sim na
hexis corporal das festas em praça pública, na memória recriada pelo ato coletivo, no
habitus (BOURDIEU, 2000) de jovens artistas contemporâneos, no seu modo de
ocupar o espaço público, de subverter e reinventar a cidade e sua estrutura colonial
e mais além, na memória e na paisagem. Trata-se de uma estética, ou melhor, de
uma poética que não encontra sua expressão em culturas atávicas e puras, mas que,
mesmo sendo o produto vivo de longas trajetórias, estão em relação constante e
permanente, num movimento de ir sendo, reinventando-se, r-existindo.
Referências
ANDRADE, Oswald de. O manifesto antropófago. In: TELES, Gilberto Men-
donça. Vanguarda europeia e modernismo brasileiro: apresentação e crítica... 3. ed.
Petrópolis: Vozes; Brasília: INL, 1976.
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998.
______. O terceiro espaço. Entrevista a Jonathan Rutherford. Revista do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional, n. 24, p. 35-41, 1996.
BARRIA MANCILLA, Claudio A. O trampolim da razão subalterna, circo social e o pensa-
mento social de Nuestra América. Dissertação de mestrado, UFF, Educação, Niterói: 2007.
241 MARIÁTEGUI,. J C. Tópicos de Arte Moderna, artigo publicado originalmente Mundial, Lima, 22 de
março de 1930, e compilado em MARIÁTEGUI, 1990a.
miolo_geografia_UFF.indd 365 30/01/17 17:16
366 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
______. Pela poética de uma pedagogia do Sul, Diálogos e reflexões em torno de uma
filosofia da educação descolonial desde a Cultura popular da Nossa América. Tese de
doutorado, UFF, Eduação, Niterói: 2014.
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1985.
______. Teses Sobre o conceito de história. In: LOWY, M. Walter Benjamin:
aviso de incêndio, uma leitura.., São Paulo: Boitempo, 2005.
BOURDIEU, Pierre. Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 1996.
______. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2000.
CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura. Vol. I:
A sociedade em rede. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999.
______. A era da informação: economia, sociedade e cultura. Vol. 3: Fim de mi-
lênio. São Paulo: Paz e terra, 1999a, p. 411-439.
DU BOIS, William E. B. As almas da gente negra. Rio de Janeiro: Lacerda Edi-
tores, 1999.
DUSSEL, Enrique. Filosofía de la liberación. México D.F.: Nueva América, 1977.
______. Filosofía ética latinoamericana, t. I, II y III. México: Edicol, 1977b.
______. 20 teses sobre política. B. Aires: CLACSO/São Paulo: Expressão popular,
2007.
FANON, Frantz. Os condenados da terra. Juiz de Fora: UFJF, 2006.
GALEANO, Eduardo. Libro de los abrazos. México: Siglo XXI, 1991.
GLISSANT, Édouard. Introdução a uma poética da diversidade. Juiz de Fora:
UFJF, 2005.
______. Poétique de la Relation. Poétique III. Paris: Gallimard, 1990.
GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1982.
LOWY, Michel. Walter Benjamin: aviso de incêndio, uma leitura. São Paulo: Boi-
tempo, 2005.
MARIÁTEGUI, José Carlos. Temas de Nuestra América. Lima: Biblioteca Amau-
ta, 1990.
miolo_geografia_UFF.indd 366 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 367
______. El artista y la época. Lima: Biblioteca Amauta, 1990a.
______. Por um socialismo indo-americano. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005.
______. Sete ensaios de interpretação da realidade peruana. São Paulo: Expressão
Popular, CLACSO, 2008.
MIGNOLO, Walter, D. (Comp.). Capitalismo y geopolítica del conocimiento – el
eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo.
Argentina: Del Signo, 2001.
______. Histórias locais/projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pen-
samento liminar. Belo Horizonte: UFMG, 2003.
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. Abya Yala (verbete). In: Enciclopédia
contemporânea da América Latina e do Caribe. São Paulo: Boitempo Editorial,
2006.
QUIJANO, Anibal. A nova heterogeneidade estrutural da América Latina. In:
HEINZ, R. Sonntag et al. Duda, certeza y crisis. Caracas: Unesco/Nova Sociedad,
1988.
______. Colonialidad y modernidad/racionalidad, en Perú Indígena, vol. 13, n.
29, Lima, Perú, 1992.
______. Colonialidad del poder, cultura y conocimiento. In: MIGNOLO, Wal-
ter, D. (Comp.). Capitalismo y geopolítica del conocimiento – el eurocentrismo y
la… Argentina: Del Signo, 2001.
RIBEIRO, A. C. T. Outros territórios, outros mapas. Observatório Social de
América Latina, Buenos Aires, v.6, n.16, p. 263-272, 2005
SANTOS, Milton. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio técnico-científico
informacional. São Paulo: Hucitec, 1994.
SPIVAK, Gayatri C. H. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: UFMG, 2010.
THOMPSON, E. P. The making of the English working class. Nova Iorque: Vin-
tage Books, 1963.
miolo_geografia_UFF.indd 367 30/01/17 17:16
miolo_geografia_UFF.indd 368 30/01/17 17:16
Conflictos por la representación y las prácticas,
por los saberes y haceres en las fronteras
internas colombianas, el caso de La Macarena
Lina María Hurtado Gómez
Introducción
Este artículo avanza en la relación entre sistemas de representación/prácticas,
la producción de sentido y su relación con la colonialidad del poder y del saber.
Nos concentramos aquí en discutir las formas cómo los sistemas de representa-
ción hegemónicos con sus prácticas sustentan la colonialidad del poder y del saber
(QUIJANO, 2000) y entran en disputa con otros sistemas de representación, los
subalternos, que con sus prácticas abren la posibilidad de construir nuevos hori-
zontes de sentido.
El análisis se realiza en La Macarena, una región que tiene una privilegiada
ubicación, al sur del departamento del Meta y parte del Guaviare en Colombia,
en el cruce de los ecosistemas de los Andes, la Orinoquia y la Amazonia. Por
ello ha sido zona de intercambio cultural, un encuentro de caminos entre indí-
genas, conquistadores, misioneros, caucheros, quineros, colonos y campesinos.
Pero también una frontera interna, en disputa entre las comunidades indígenas,
campesinas, las guerrillas, los ejércitos paramilitares, el capital y el Estado.
Las discusiones que aquí se presentan abordan de manera parcial la discusión
conceptual de la tesis de Doctorado en Geografía en curso que busca analizar las
relaciones/tensiones que se establecen entre las dinámicas territoriales que provie-
nen del Estado y los movimientos sociales para el control, acceso y apropiación
del espacio, en las zonas de frontera interna en Colombia.
miolo_geografia_UFF.indd 369 30/01/17 17:16
370 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
La disputa por la representación y las prácticas en La Macarena
La Amazonia y la Orinoquia han sido unos de los confines de la nación co-
lombiana. Producidas como el otro (MOUNTZ, 2012), como fronteras, sobre
ellas se han construido diferentes representaciones y prácticas, mediadas por re-
laciones de poder/saber (FOUCAULT, 1998 [1976]; BOURDIEU, 2007), que
han tenido como propósito marcar, separar, identificar, discriminar, excluir o ro-
tularlas como diferentes, en fin reducir la diversidad amazónica y orinoquense, las
Amazonias, las Orinoquias a representaciones y prácticas dominantes.
Los sentidos sobre los diferentes espacios, las personas, las cosas, son construi-
dos paulatinamente por medio de prácticas y representaciones, que están media-
das por relaciones de poder/saber, que se producen desde un lugar y por tanto
están vinculadas a personas, instituciones y relaciones sociales. Sobre la región de
La Macarena, que es andina, amazónica y orinoquense, hemos identificado dos
representaciones/prácticas dominantes que se debaten al decir de Bhabha ([1994]
2002) entre la ambivalencia de ser el objeto del deseo y también el confín, entre
el placer y la seducción de lo misterioso y el medio a lo salvaje.
La primera representación está relacionada con el mito del vacío demográfico
que busca incorporar al proyecto nacional bien sea través de figuras de reserva
para la conservación, de procesos de ocupación dirigida o de proyectos de desa-
rrollo. La asocia con los llanos orientales242, evoca un espacio plano, uniforme, in-
menso, vacío, que debe ser conservado pero también modernizado y la considera
como la última frontera agrícola del país. En su forma conservacionista, la asocia
con riquezas naturales, cuya imagen más publicitada ha sido Caño Cristales, el río
de los siete colores y la ve como un lugar estratégico para el futuro del país, para
la venta de servicios ambientales, y el desarrollo del turismo. Así se construye la
cadena discursiva de vacío demográfico, territorios baldíos, territorios nacionales,
tierras de misiones, frentes de colonización, fronteras agrarias, reservas naturales,
parques nacionales, áreas de conservación.
Coherente con ese discurso, en La Macarena se creó la primera área protegida
en Colombia en el año 1948, la Reserva Biológica de La Macarena, hoy Parque
Nacional Natural Sierra de La Macarena, que hace parte de una de las mayores
áreas protegida del país,243 el Área de Manejo Especial de La Macarena –AMEM.
242 Los llanos orientales ha sido otra forma como ha sido conocida la Orinoquia colombiana.
243 El Área de Manejo Especial de La Macarena cuenta con aproximadamente cuatro millones de hectáreas
miolo_geografia_UFF.indd 370 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 371
Como consecuencia, según la normatividad ambiental, la ocupación campesina
en las áreas de conservación estricta del AMEM, es decir en los parques nacionales
y las zonas de preservación o recuperación para la preservación se tornó “ilegal” y
por tanto el campesino que habita esta región “reservada” se tornó invasor. Lo cual
sigue la línea de raciocinio de la sociología amazónica señalada por Ruiz (2010)
según la cual el colono blanco ha sido representado como predador y devastador
de los recursos naturales y desconocedor de los ecosistemas, en contraposición a
los indígenas conocedores y cuidadores de la selva.
Desde el año 2007 en el marco de la Política de Participación Social en la
Conservación, más conocida como “Parques con la Gente”, la Unidad de Parques
Nacionales Naturales implementa una “estrategia de relocalización voluntaria de
campesinos” para la liberación de áreas dentro de los parques nacionales que tomó
como caso piloto el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena y que preten-
de ser replicada en seis parques más en la Amazonia y Orinoquia colombiana.244
Esa iniciativa se complementa con la de establecer corredores ambientales para la
conservación, así como de pago por servicios ambientales hacia el suroriente y el
suroccidente del AME-Macarena, áreas de transición hacia la Amazonia.
Las políticas agrarias y de colonización también se articulan con esta forma-
ción discursiva, pues al ser concebida como espacio vacío, debía ser articulada al
proyecto de nación a través de la colonización. Así en el siglo XIX se iniciaron
políticas de colonización promovidas por el Instituto Colombiano de Reforma
Agraria, la mayoría de ellas fracasadas y que más bien alimentaron un proceso de
apropiación por parte del sector empresarial de las mejoras hechas por los cam-
pesinos, lo cual daba lugar a nuevos movimientos de colonización, que trajeron
como consecuencia la ampliación de la frontera agraria.
Las políticas de desarrollo también están articuladas a la representación de La
Macarena como espacio vacío. La Amazonia pasó de ser un territorio periférico, a
una fuente natural de inagotables recursos, y en el siglo XIX, se incorporaron terri-
torios amazónicos a la economía nacional, entregando concesiones a empresas pri-
vadas para la extracción de quina, caucho y maderas. Hasta mediados del siglo XX
reuniendo la totalidad de los parques nacionales naturales Sierra de La Macarena y Tinigua y parcialmente
los de Cordillera de los Picachos y Sumapaz, así como tres distritos de manejo integrado: Macarena Norte,
Macarena Sur y Ariari Guayabero.
244 Los parques nacionales naturales en los que se espera replicar la estrategia de relocalización voluntaria son
los parques del Área de Manejo Especial de La Macarena: Tinigua, Sumapaz, Cordillera de los Picachos y
los de Alto Fragua Indiwasi en el departamento de Caquetá y La Paya en el departamento del Putumayo.
miolo_geografia_UFF.indd 371 30/01/17 17:16
372 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
primó una visión extractivista de la Amazonia, mercantilizando la selva como forma
de dominar este espacio e incorporarlo en la vida nacional y a la idea de progreso.
Esa visión se reflejó en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que se pro-
puso lograr el crecimiento sostenido y la generación de empleo dando impulso a
lo que llamó las locomotoras minero-energética, de infraestructura para el transporte
y agropecuaria245, es decir, la exploración y explotación de hidrocarburos, la plan-
tación de palma africana para la producción de aceite y la ganadería extensiva, en
el cual la Orinoquia ocupa un papel fundamental.
Esta visión de integración al proyecto nacional a través de modelos económi-
cos basados en economías extractivas, tiene su mayor sustento en las propuestas
de articulación a través de la construcción de infraestructura vial. La Macarena es
también una zona estratégica para la conexión de las tres regiones de la cual hace
parte: Andes, Orinoquia y Amazonia. En ella está proyectada la vía Marginal de
la Selva y el Llano, que hace parte del Eje Andino –Buenaventura-Puerto Ordaz–
de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana
–IIRSA– y que puede llegar a ser una de las vías más importantes de Suramérica,
pues permitiría la conexión entre Caracas, Bogotá y Quito con el sur del Ecuador
(ARCILA, 2007, p. 17).
Finalmente el cultivo y transformación de la hoja de coca en pasta básica, que
inició hacia final de los años ochenta, es una dinámica del capital que, siendo
ilegal, ha tenido una fuerte influencia en la formación territorial de La Macarena.
Para el año 2005 el departamento del Meta era el mayor productor nacional de
coca con 18.740 hectáreas sembradas, mientras que Guaviare contaba con 9.477
hectáreas. Según las cifras oficiales en el 2012 los departamentos de Meta y Gua-
viare aparecen con 2.699 hectáreas sembradas y 3.851 hectáreas respectivamen-
te, de un total nacional de 48.000 hectáreas246 (NACIONES UNIDAS, 2005,
2012). Entre las principales consecuencias se encuentra el incremento acelerado
245 El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, para lograr el objetivo propuesto de crecimiento económico
sostenido y la generación de empleo, identificó la necesidad de dar fuerza a cuatro sectores de la economía
que ha llamado locomotoras, estas las define como sectores que avanzan más rápido que el resto de la eco-
nomía: (1) sector minero-energético, (2) infraestructura de transporte, (3) agropecuaria y (4) vivienda.
246 Respecto de la cifra nacional actualmente hay una discusión en relación con la veracidad de los datos pro-
porcionados para el año 2012. Según ellos, se presentó una disminución del 25% en los últimos dos años,
pasando de 64.000 en el 2011 a 48.000 en el 2012, lo que aumenta el promedio de disminución anual que
estaba entre el 8% y 11%, lo cual no parece lógico si se tiene en cuenta que hubo una disminución en las
hectáreas fumigadas así como en el área en la cual se realizó erradicación forzada.
miolo_geografia_UFF.indd 372 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 373
de la población en los momentos de mayor auge, la pérdida de prácticas agrope-
cuarias, así como la alta fragmentación de la propiedad.
El segundo sistema de representación y prácticas lo hemos llamado criminalizador,
asocia la región de La Macarena con lo salvaje, peligroso, infierno verde, zona roja
y de orden público, cocalera, de narcotraficantes, paramilitares, guerrillas, bandi-
dos, campesinos, rebeldes, repúblicas independientes y zonas de reserva campe-
sina, que deben ser pacificadas para después ser integradas al proyecto nacional.
Como consecuencia los campesinos, los indígenas que viven en esta región han
sido criminalizados y esto se refleja en las prácticas del Estado y sus instituciones.
Este estereotipo que criminaliza el territorio y su gente tampoco es nuevo. Ini-
ciando el siglo XX la Amazonia y los Llanos fue un espacio donde se confinó en
colonias penales a “la población socialmente inadaptada”. Así mismo en la llegada
de los campesinos a la Amazonia tuvieron un papel preponderante las autode-
fensas campesinas, lo que se conoce como la colonización armada (MOLANO,
1989; PIZARRO 1991), que luego fueron llamadas repúblicas independientes,
por haber sido estrategias de resistencia a las olas de violencias, pero también por
estar por fuera del control territorial del Estado. Por lo menos tres de ellas, Alto
Sumapaz-Duda, Alto Ariari, el Guayabero y el Pato están localizadas en lo que
hoy se conoce como el Área de Manejo Especial de La Macarena.
Esa representación que criminaliza la región se ha reforzado por el hecho de
que desde mitad de los años sesenta se han dado en la región las más fuertes y
largas confrontaciones entre las fuerzas militares del Estado y la guerrilla de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC–. La Macarena es una
de importancia estratégica para esta guerrilla, pues en ella se localiza uno de los
sectores más fuertes, el Bloque Oriental.
En la región de La Macarena el cultivo de coca se consolida en la década del se-
tenta, después del fracaso de los procesos de colonización promovidos en el marco
de la Estrategia de Desarrollo Rural Integrado en los departamentos de Meta,
Guaviare. El auge más importante de estos cultivos se dio entre 1998-2002, pe-
riodo en el que se llevó a cabo el despeje militar en los municipios de Vistahermo-
sa, La Uribe, Mesetas y La Macarena, en el Meta, y San Vicente del Caguán, en
el Caquetá, para llevar a cabo las negociaciones de paz entre el gobierno nacional
y la guerrilla de las FARC. Como consecuencia hoy se conoce también como una
región de “narcotraficantes” por ser una de las zonas dónde ha habido una parti-
cipación importante en la producción y transformación de los cultivos de coca en
miolo_geografia_UFF.indd 373 30/01/17 17:16
374 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
el país, criminalizando a los campesinos que se dedican a esta actividad.
Para recuperar el control territorial sobre estas áreas el Estado ha puesto en
marcha de diferentes planes que han usado la violencia física para la recuperación
del control territorial por parte del Estado, como ataques militares a la guerrilla
de las FARC–, con una intensificación de los procesos de erradicación forzosa y
fumigación aérea de los cultivos de coca. Entre los planes que se han puesto en
marcha en la última década para avanzar en esa dirección, se encuentran el Plan
Colombia entre los años 2000 y 2004; el Plan Patriota entre el 2004 y 2006; y a
partir del año 2007 como respuesta a los modestos resultados de estos últimos y a
las críticas relacionadas con la estrechez de un enfoque únicamente militar, se ini-
cia la puesta en marcha de una Acción Integral a través del Plan de Consolidación
Integral de La Macarena –PCIM–.
Este último se desarrolló como caso piloto en cinco municipios de los catorce
que tiene el AMEM247, pero actualmente se desarrolla en catorce zonas más248 y
ha establecido una regionalización de seguridad que representa las zonas seguras
–estables/consolidadas/verdes-; y las zonas inseguras –en estado de emergencia/
en recuperación/rojas–. Así se ha generado una imagen y un discurso sobre lo
peligroso, lo inseguro, lo inaccesible, que estigmatiza a la población que habita
estos territorios. Para el año 2010 la mayor parte de la región de La Macarena era
zona roja, asociada con cultivos de coca, guerra y guerrillas. En general esta visión
criminalizadora, ha generado prácticas que buscan limpiar la región de “bandi-
dos” y de los que son denominados como tales, para modernizarla e integrarla a la
economía nacional. Del poder de esta forma de percibir La Macarena da cuenta
una frase pronunciada por un miembro de las fuerzas militares en el marco de
procesos de coordinación institucional en el marco del PCIM, “el conflicto arma-
do en Colombia se resuelve en La Macarena”.
247 El PCIM se desarrolla en cinco municipios del AMEM localizados en el departamento del Meta: Mesetas,
Uribe, La Macarena, Puerto Rico, Vista Hermosa y San Juan de Arama.
248 El Plan de Consolidación Integral –PCI– fue puesto en marcha a través de la Directiva Presidencial 01 de
marzo de 2009. Las zonas priorizadas para el desarrollo de Planes de Consolidación Integral son Macarena,
Río Caguán, Nariño, Córdoba, Bajo Cauca Antioqueño, Buenaventura, Montes de María, Catatumbo,
Sierra Nevada de Santa Marta, Cordillera Central, Putumayo, Arauca, Cauca y Chocó. Los PCI implican el
desarrollo de tres fases : la primera de recuperación –de zonas rojas–, cuyo objetivo es la seguridad territorial
con una alta intervención militar; La segunda de transición –zonas amarillas– en áreas que están bajo el
control territorial y en las cuales se inician actividades de desarrollo económico y se busca la atención de
otras instituciones del Estado; Le tercera de consolidación –zonas verdes– son áreas estabilizadas, con mayor
intensidad en el esfuerzo político y social.
miolo_geografia_UFF.indd 374 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 375
La Macarena ha sido un “laboratorio” en el cual se han probado estrategias de
pacificación que han sido aplicadas después en otras regiones del país igualmente
complejas, como Montes de María y el Catatumbo; pero también ha sido “el caso
piloto” para las estrategias de control del avance de la frontera agraria sobre las
áreas protegidas.
Los regímenes de verdad de La Macarena como vacío demográfico y crimi-
nalizador, tienen una larga historia y han ido fortaleciéndose y logrado construir
estereotipos, fijar los sentidos, construir un consenso sobre La Macarena, que nie-
ga el juego de la representación y de la diferencia, con la colonialidad de su poder
y su saber. Así concordamos con Bhabha ([1994] 2002), quien afirma que “un
rasgo importante del discurso colonial es su dependencia del concepto de ‘fijeza’
en la construcción ideológica de la otredad. La fijeza, como signo de la diferencia
cultural/histórica/racial en el discurso del colonialismo, es un modo paradójico
de representación; connota rigidez y un orden inmutable así como desorden, de-
generación y repetición demónica” (BHABHA, [1994] 2002, p. 91).
Hall (2010) nos invita a colocar en tensión los sistemas de representación que
fijan y naturalizan las diferencias y terminan por fortalecer las fronteras identi-
tarias. Es decir, a identificar y analizar ese combate en torno a la verdad (FOU-
CAULT, 1976), esa lucha cognitiva (BOURDIEU, 1999), ideológica (HALL,
2010), que intenta desplazar el discurso dominante, usando términos alternati-
vos, sino que intenta transformar el significado, generando nuevas asociaciones.
Por tanto colocamos una tercera formación discursiva con sus prácticas, que re-
vela el contra-discurso de los regímenes de verdad asociados al vacío demográfico
y a la criminalización, que podríamos llamar de discurso subalterno, con especial
énfasis en las territorialidades campesinas.
Las representaciones/prácticas desde la región, asocian La Macarena, sus recur-
sos y su gente, con indígenas, territorios indígenas, resguardos indígenas, campe-
sinos, territorios campesinos, zonas de reserva campesina. Es un contra-discurso
que emerge de las territorialidades campesinas e indígenas y es acompañado por
algunas instituciones, ha venido contestando el estereotipo criminal y de espacio
vacío, con marchas, protestas, tomas pacíficas, a través de sus procesos organizati-
vos y sus prácticas cotidianas. Aquí haremos énfasis en el discurso sobre la territo-
rialidad campesina, en particular sobre las zonas de reserva campesina.
La población de La Macarena desciende principalmente de colonos prove-
nientes de la región andina, que fueron desplazados por la violencia finalizando
miolo_geografia_UFF.indd 375 30/01/17 17:16
376 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
los años cuarenta y por población indígena local que hoy se reduce a tres resguar-
dos y siete asentamientos249 que ocupan una extensión total de 160.618 hectáreas,
menos del 4% del área del AMEM (Unidad de PARQUES Nacionales, 2004).
El proceso de resistencia campesina que inició en la región de La Macarena
durante los años cuarenta en el período denominado de la “Violencia en Colom-
bia”, generó un frente de colonización de campesinos del Tolima y Cundinamarca
que llegarían en busca de tierra y paz. Esta migración se vería reforzada por la es-
trategia colonizadora del Estado y que finalizó en el desplazamiento de pequeños
agricultores por terratenientes.
Las movilizaciones de finales de los años ochenta de los campesinos dedica-
dos a la plantación y transformación de coca en la cuenca del río Duda, entre la
cordillera oriental y la serranía de La Macarena, terminó en la inclusión de las
Zonas de Reserva Campesina –ZRC– en la legislación nacional en el año 1994.
Esta figura está orientada al reconocimiento de las territorialidades campesinas en
zonas de frontera agraria, a través de un manejo colectivo, pero con manteniendo
la propiedad individual o familiar. De las seis ZRC que existen en el país dos están
localizadas en el AMEM y su zona de influencia, la de Calamar en el Guaviare y
la Pato-Balsillas en el Caquetá. De las cinco que están en proceso de constitución
dos están localizadas en la región, Losada-Guayabero y Güejar-Cafre, ambas en el
departamento del Meta. Hoy hay una disputa con el Estado por los sentidos de
esta figura y el gobierno ha suspendido la conformación de nuevas ZRC, así como
el apoyo a las ya constituidas en el territorio nacional. No obstante las organiza-
ciones campesinas mantienen sus posiciones en defensa de las ZRC.
Las dinámicas socio-espaciales del capital ejercen una fuerte presión sobre el
proyecto campesino dando continuidad al proyecto moderno-colonial en La Ma-
carena, e ignorando las territorialidades campesinas e indígenas y los proyectos
que estas tienen sobre ese espacio geográfico. En el sur del AMEM la exploración
y explotación de hidrocarburos avanza en sobre la potencial ZRC Losada-Gua-
yabero en el municipio de La Macarena, así como sobre la ZRC Pato Balsillas en
el municipio de San Vicente del Caguán y la de Calamar. En esta última se ha
identificado un proceso de concentración de la propiedad que avanza en la me-
dida en que la ganadería va ganando espacio dentro de la ZRC y por lo cual las
comunidades campesinas han solicitado la ampliación de la misma. En el sector
249 Los asentamientos indígenas se diferencian de los resguardos, porque en ellos aún no se ha hecho recono-
cimiento legal, a través de un título de propiedad colectiva.
miolo_geografia_UFF.indd 376 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 377
nororiental del AMEM, en el municipio de Puerto Rico, se localiza la proyec-
tada ZRC Güejar-Cafre que sufre las presiones derivadas principalmente de los
cultivos de coca y de las proyecciones viales, de hidrocarburos y de plantación de
palma africana, sobre la llamada región de la Altillanura.
Para dar continuidad al proceso de resistencia y para fortalecer la discusión y el
diálogo nacional sobre esa figura, las organizaciones campesinas del AMEM han
constituido una red de organizaciones campesinas de carácter regional, la Corpo-
ración para la defensa del Área de Manejo Especial de La Macarena –CORPOA-
MEM–, que reúne 19 organizaciones campesinas y 3 comunidades indígenas que
buscan conformar una red de ZRC alrededor de los parques nacionales naturales
del área de manejo especial, en lo que hoy son zonas de producción de los distritos
de manejo integrado. Según el planteamiento de los líderes campesinos, esta red
tendría dos objetivos, “reconocer el derecho a la tierra de los campesinos y servir
de “barrera” para los procesos de colonización que vienen avanzando en los par-
ques nacionales del AMEM.”250 Dicha red regional se articula con una de carácter
nacional, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –ANZORC–
que recoge iniciativas de conformación o consolidación de ZRC en las diferentes
regiones del país.
En el año 2012, en el marco de los diálogos de paz entre el gobierno de Santos
y la guerrilla de las FARC, las ZRC han ocupado un lugar importante en lo que se
llamó el primer punto de los acuerdos, “política de desarrollo agrario integral, con
énfasis en la formalización de la propiedad y el desarrollo rural.”251 Esta guerrilla
recogiendo las propuestas de los campesinos, solicitaba la constitución de ZRC
en un área de aproximadamente 10 millones de hectáreas y las definió como “[…]
territorios campesinos que gozarán de autonomía política, administrativa, econó-
mica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia a través de los
mecanismos de la justicia comunitaria. La autonomía se comprende en términos
de capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación, enmarcada den-
250 Manifestación realizada en la reunión del 30 de mayo del Grupo Gestor del AMEM en Villavicencio, Meta.
251 La firma del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera, entre las FARC y el Gobierno colombiano, el pasado 26 de agosto, ha abierto nuevamente la
posibilidad de avanzar en la búsqueda de la paz. El acuerdo consta de cinco puntos:(1) política de desarrollo
agrario integral, con énfasis en la formalización de la propiedad y el desarrollo rural; (2) participación políti-
ca, que pone de presente la salida negociada del conflicto; (3) fin del conflicto, que traería consigo el desarme
definitivo; y finalmente dos puntos de carácter geopolítico, (4) la solución al problema de las drogas ilícitas y
(5) víctimas, que busca que los firmantes queden a salvo de la justicia penal internacional.
miolo_geografia_UFF.indd 377 30/01/17 17:16
378 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
tro del ordenamiento constitucional que resulte del nuevo contrato social pactado
en la asamblea nacional constituyente”.
Ante esta propuesta, el entonces ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo
las llamó como “republiquetas independientes”, para asociarlas a los núcleos agra-
rios creados entre los años 1950-1956, en los cuales los campesinos organizados
en autodefensas buscaron defenderse de la violencia partidista y reivindicar sus
demandas por la tierra. Con esta afirmación cobró fuerza la criminalización de las
ZRC, como un espacio “por fuera de la ley”, lo cual generó nuevamente la suspen-
sión de las acciones de constitución de nuevas o la consolidación de las existentes,
que hasta hoy se mantiene.
Como respuesta a las presiones del desarrollo y de las estrategias de pacifi-
cación, y en medio de un proceso de paz, se intensificaron las movilizaciones
pacíficas de grupos campesinos, indígenas y afros y en general de grupos sociales
asociados al sector rural. Entre las más significativas se cuenta el Paro Nacional
Agrario que tuvo lugar en agosto del año 2013, con una duración de casi un mes,
a la cual se sumaron habitantes de las ciudades, y en particular el movimiento
estudiantil que se solidarizó y enmarcaron sus demandas en las del movimiento
agrario. En el año 2014 se dio un nuevo paro agrario, que tuvo una duración de
quince días. Como resultado se logró la promulgación del Decreto 870 del 8 de
mayo de 2014 que crea la Mesa Única Nacional de Interlocución y Participación
(MUN) para el abordaje de las temáticas de la Cumbre Nacional Agraria, Cam-
pesina, Étnica y Popular, cuya declaración final recoge el conjunto de temas de
debate alrededor del el buen vivir, la reforma agraria estructural, la soberanía, la
democracia y la paz con justicia social, planteados por una importante coalición
de organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas de “comunidades
históricamente marginadas y excluidas, es un llamado de atención al gobierno
nacional sobre la urgencia de atender estructuralmente a un mundo rural que
reclama ser sujeto de derechos”.
Reflexiones finales
La región de La Macarena se ha representado como vacía, salvaje, peligrosa y
exuberante, lo cual ha sido acompañado con prácticas coherentes con estas formas
de nombrar, que han producido espacios de guerra, de dominación y zonas reser-
vadas. Y han logrado que sujetos socialmente ubicados en el lado oprimido de la
diferencia colonial, piensen sistemáticamente como los que se encuentran en las
miolo_geografia_UFF.indd 378 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 379
posiciones dominantes. No obstante discursos y prácticas indígenas, campesinas,
de habitantes urbanos, han emergido de esa diversidad cuestionando esas formas
de nombrar y por tanto negándose a ocupar el lugar que el discurso les ha dado.
Esas emergencias han demostrado que en un mismo espacio coexisten territo-
rialidades con temporalidades diferentes, con diversas formas de representar, así
como de producir y transformar el espacio, mostrando que el poder viene de dife-
rentes lugares, de las comunidades, los movimientos sociales y no sólo del Estado,
la iglesia o el capital, es decir que hay múltiples territorialidades (HAESBAERT,
2007), es decir múltiples estrategias para controlar personas y cosas, a través del
control de un área: el territorio (SACK, 2011).
Quijano (2000) ha usado el concepto de heterogeneidad histórico-estructural,
para describir esa coexistencia de múltiples espacios/tiempos, culturas, subjetivi-
dades, conocimientos y formas de trabajo. En una estructura histórica-heterogé-
nea (QUIJANO, 2000) o una heterarquía (CASTRO-GÓMEZ, 2007), como
articulación imbricada de múltiples jerarquías, la subjetividad y el imaginario
social no es derivativo sino constitutivo de las estructuras del sistema mundo.
Así, el proceso de producción de conocimiento está en el centro del debate de la
colonialidad. Por tanto una de las salidas a esa colonialidad del poder y del saber
son los nuevos horizontes de sentidos que emergen de las formas de poder/saber
otros, de los grupos sociales campesinos, indígenas, blancos, negros, aquellos que
se ubican en el lado de la diversidad y cuyos saberes poderes, formas organizativas,
prácticas cotidianas constituyen formas de resistencia.
Referencias
ARCILA, O.; SALAZAR, C. A. Sur del Meta: territorio amazónico. Bogotá: Ins-
tituto Amazónico de Investigaciones Científicas-Sinchi, 2007. 202 p.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA, AN-
ZORC. Cartilla pedagógica de las zonas de reserva campesina de Colombia. 2011.
Disponible en: http://issuu.com/anzorc/docs/cartillazonasdereservacampesina.
Acceso en: 8 de septiembre de 2014.
BHABHA, H. La otra pregunta. El estereotipo, la discriminación y el discurso
del colonialismo. En: ______. El lugar de la cultura. Buenos Aires: Manantial,
[1994] 2002.
miolo_geografia_UFF.indd 379 30/01/17 17:16
380 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
BOURDIEU, P. Violencia simbólica y luchas políticas. En: ______. Meditaciones
pascalianas. Barcelona: Anagrama, 1999, p. 217-271.
______. La fuerza de la representación. En: ______. Qué significa hablar. Ma-
drid: Ed. Akal, 2001, p. 87-95.
______. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 11ª ed., 2007.
CASTRO-GÓMEZ, S. Michel Foucault y la colonialidad del poder. Tabula Rasa,
Bogotá, n. 6, en./jun. 2007. Disponible en: http://www.revistatabularasa.org/nu-
mero-6/castro.pdf
FOUCAULT, M. El Método. En: ______. Historia de la Sexualidad I: la volun-
tad de saber. México. D F.: Siglo veintiuno editores, [1976] 1998, p. 55-61.
______. Verdad y poder. En: ______. Microfísica del poder. Madrid: Ediciones de
La Piqueta Seseña, 1979. p. 175-189.
GROSFOGUEL, R. La descolonización de la economía política y los estudios
postcoloniales. Transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global.
Tabula Rasa, Bogotá, n. 4, en./jun. 2006. Disponible en: http://www.revistatabu-
larasa.org/numero-4/grosfoguel.pdf
HALL, S. Identidad y Representación. En: ______. Sin Garantías. Trayectorias
y problemáticas en estudios culturales. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar,
Sede Ecuador, 2010, p. 337-482.
______. Significación, representación, ideología: Althusser y los debates postes-
tructuralistas. (p. 193-217) En: ______. Sin Garantías. Trayectorias y problemáti-
cas en estudios culturales. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecua-
dor, 2010, p. 193-220.
LEFEBVRE, Henri. The production of space. Oxford: Blackwell, (1991) 1974.
MOUNTZ, Alison. The Other. En: GALLAHER, C. Key concepts in political
geography. SAGE Publications Ltda., 2012, p. 328-339.
NACIONES UNIDAS. Oficina contra la droga y el delito. Colombia. Censo de
cultivos de coca. Junio de 2005. Disponible en: http://www.unodc.org/pdf/an-
dean/Colombia_coca_survey_es.pdf
______. Oficina contra la droga y el delito. Colombia, Monitoreo de cultivos de
miolo_geografia_UFF.indd 380 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 381
coca 2012. Disponible en: http://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/
Colombia/Colombia_Monitoreo_de_Cultivos_de_Coca_2012_web.pdf
PORTO-GONÇALVES, C. W. Geo-grafías, movimientos sociales, nuevas territo-
rialidades y sustentabilidad. México: Editorial siglo XXI, 2001. 298 p.
QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina.
En: LANDER, E. (Comp.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias
sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO, Consejo Lati-
noamericano de Ciencias Sociales, 2000, p. 122-151.
RUIZ, D. Las premisas de la selva. Representaciones de la naturaleza en una zona
de colonización campesina. En: CHAVES, M.; DEL CAIRO, C. (Comps.). Pers-
pectivas antropológicas sobre la Amazonia contemporánea. Bogotá: Editorial Insti-
tuto Colombiano de Antropología e Historia y Pontificia Universidad Javeriana,
2010, p. 335-361.
SACK, R. O significado da territorialidade. In: DIAS, L.; FERRARI, M. (Orgs.).
Territorialidades humanas e redes sociais. Florianópolis: Insular, 2011
UNIDAD DE PARQUES NACIONALES NATURALES. Parque Nacional Na-
tural Sierra de La Macarena. Plan Básico de Manejo Componente de Diagnóstico,
2004.
miolo_geografia_UFF.indd 381 30/01/17 17:16
miolo_geografia_UFF.indd 382 30/01/17 17:16
SOBRE OS AUTORES(AS)
Carlos Walter Porto-Gonçalves
Doutor em Geografia pela UFRJ. Professor do Programa de Pós-Graduação
em Geografia da Universidade Federal Fluminense. Pesquisador do CNPq. Mem-
bro do Grupo Hegemonia e Emancipações do Conselho Latino-americano de
Ciências Sociais – CLACSO. Ex-presidente da Associação dos Geógrafos Brasi-
leiros (1998-2000). Membro do Grupo de Assessores do Mestrado em Educação
Ambiental da Universidade Autônoma da Cidade do México. Ganhador do Prê-
mio Chico Mendes em Ciência e Tecnologia do Ministério do Meio Ambiente,
em 2004. É autor de diversos artigos e livros publicados em revistas científicas
nacionais e internacionais, sendo os mais recentes: Geo-grafías: movimientos socia-
les, nuevas territorialidades y sustentablidad, ed. Siglo XXI, México, 2001; Amazô-
nia, Amazônias, ed. Contexto, São Paulo, 2001; Geografando – nos varadouros do
mundo, edições Ibama, Brasília, 2004; A globalização da natureza e a natureza da
globalização, Ed. Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 2006; El desafío ambiental,
Edições PNUMA/ONU, México, 2006.
Carolina de Freitas Pereira
Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universida-
de Federal Fluminense (UFF). Possui Mestrado em Geografia pela Universidade
Federal Fluminense (UFF). Licenciatura e Bacharelado em Geografia pela Uni-
versidade Federal de Viçosa (UFV). Participa do Núcleo de Estudos sobre Ter-
ritório, Ação Coletiva e Justiça (NETAJ – UFF). Temas de interesse: território,
ação coletiva e política; identidade, justiça ambiental e direitos territoriais; povos
e comunidades tradicionais.
miolo_geografia_UFF.indd 383 30/01/17 17:16
384 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Claudio Barría Mancilla
Doutor e mestre em Estudos Sociais Aplicados pelo Programa de Pós-Gradu-
ação em Educação da UFF. Licenciado em Educação Artística pela UNIRIO. É
parte da coordenação-geral do Instituto de Arte. Tem larga experiência na área de
Educação popular e Arte/educação como mediação cultural; em redes para inci-
dência política e em planejamento participativo; no campo acadêmico desenvolve
estudos sobre cotidiano da educação popular, com ênfase em Estudos Culturais
Latino-Americanos e o pensamento descolonial.
Denílson Araújo de Oliveira
Atualmente, é professor adjunto do Departamento de Geografia da Faculdade
de Formação de Professores da UERJ nos cursos de Graduação e Pós-Graduação.
Possui Graduação (Licenciatura e Bacharelado) (1999-2004), Mestrado (2004-
2006) e Doutorado (2009-2011), todos em Geografia pela Universidade Fede-
ral Fluminense. Tem experiência e interesses de pesquisas nos seguintes temas:
Espaço Urbano e Questão Étnico-Racial, Movimentos Sociais Urbanos e Novas
Metodologias para o Ensino de África. Atualmente, coordena o grupo de estudo
e pesquisa NEGRA – Núcleo de Estudo e Pesquisa em Geografia Regional da
África e da Diáspora.
Edir Augusto Dias Pereira
Atualmente, é professor da Universidade Federal do Pará, Campus Universitá-
rio do Tocantins/Cametá. Licenciado e Bacharel em Geografia pela Universidade
Federal do Pará (UFPA, 2004), mestre em Geografia pela Universidade Federal
Fluminense (UFF – 2008) e doutor em Geografia Humana pelo Programa de
Pós-Graduação em Geografia pela Universidade Federal Fluminense (2011-2014).
Desenvolve pesquisa na área de estudos da Amazônia, cultura, território, territoria-
lidade e resistência, com ênfase em comunidades ribeirinhas da Amazônia.
Eduardo Álvares da Silva Barcelos
Graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP, 2007) e Mestrado em Geografia pela Universidade Federal Fluminense
(UFF, 2010), e atualmente cursa Doutorado no Programa de Pós-Graduação em
miolo_geografia_UFF.indd 384 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 385
Geografia da UFF. É membro do Grupo de Trabalho em Assuntos Agrários da
Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), Seção Local Rio-Niterói. Participa
como pesquisador do Núcleo de Estudos sobre Território, Ações Coletivas e Justiça
(NETAJ – UFF), atuando nos seguintes temas: geopolítica dos grandes projetos de
desenvolvimento; conflitos ambientais/territoriais e cartografia crítica e social.
Gabriel Siqueira Corrêa
Graduado em Geografia (FFP-UERJ), Mestrado em Geografia (UFF), e atu-
almente cursa Doutorado em Geografia (UFF). É atualmente professor assistente
vinculado ao Departamento de Geografia da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro. Atua como pesquisador do NEGRAM (Núcleo de Estudos e Pesquisas em
Geografia, Relações Raciais e Movimentos Sociais) da UERJ-FFP e participa como
pesquisador colaborador do Núcleo de Estudos sobre Território, Ações Coletivas e
Justiça(NETAJ – UFF). Desenvolve suas pesquisas em assuntos relacionados a Re-
lações Raciais e Geografia, especialmente no que diz respeito ao Ensino de Geogra-
fia, a Lei n. 10.639, lutas quilombolas no Brasil e o Branqueamento do Território.
Jorge Ramón Montenegro Gómez
Graduado em Ciências Econômicas e Empresariais – Seção Economia – Univer-
sidad de Valladolid (1993), graduação em Geografia – Universidade de Barcelona
(1999), Mestrado em Geografia pela Universidade Estadual de Maringá (2002)
e Doutorado em Geografia pela UNESP Presidente Prudente (2006). Atualmen-
te, é professor da Universidade Federal do Paraná UFPR nos cursos de graduação
e pós-graduação em Geografia. Tem experiência e interesse nos seguintes temas:
desenvolvimento, desenvolvimento rural, políticas públicas, movimentos sociais
no campo, questão agrária, cartografia social, povos e comunidades tradicionais
e conflitos pela terra e pelo território. Coordenador do Coletivo de Estudos sobre
Conflitos pelo Território e pela Terra (ENCONTTRA). Membro do Centro de
Estudos de Geografia do Trabalho (CEGeT) e do Grupo de Trabalho “Desarrollo
rural: disputas territoriales, campesinos y decolonialidad” da CLACSO.
Lina María Hurtado Gómez
Graduada em Administração de Empresas pela Universidade Nacional de Co-
lômbia (2000), com diploma revalidado pela Universidade Federal do Rio de Janei-
miolo_geografia_UFF.indd 385 30/01/17 17:16
386 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
ro – UFRJ (2016) e mestre em Estudos Amazônicos pela Universidade Nacional
de Colômbia (2005). Doutora em Geografia na Universidade Federal Fluminense/
UFF-RJ, vinculada às atividades de investigação científica do Laboratório de Es-
tudos em Movimentos Sociais e Territorialidades (LEMTO) do Departamento de
Geografia da UFF e do Grupo de Pesquisa “Historia, ambiente y Política” da Co-
lômbia. Tem experiência em geografia e administração com ênfase em planejamen-
to, gestão territorial e ambiental, desenho e implementação de políticas públicas.
Marcelo Argenta Câmara
Doutor em Geografia pelo Programa em Pós-Graduação da Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF) (2012). Mestre em Geografia (Análise Territorial) pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (2007). Graduado em Ge-
ografia (Licenciatura Plena) pela UFRGS (2003). Atualmente, é professor adjun-
to no Departamento de Geografia da UFRGS. Atuou como professor titular de
Geografia do Colégio de Aplicação da UFRGS entre os anos 2012 e 2014. Atuou
como pesquisador junto ao Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais
(CLACSO) na linha de pesquisa Cultura, Poder e Contra-Hegemonia (2008-
2009). Desenvolve pesquisas com ênfase nas seguintes áreas temáticas: movimen-
tos sociais, território, territorialidades, conflito social na América Latina.
Marcos Vinícius da Costa Lima
Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Geografia pela Universidade
Federal Fluminense (UFF). Mestre em Geografia pela UFPA (2010); bacharel e
licenciado em Geografia pela UFPA; professor estatutário nas Secretarias de Edu-
cação do Estado do Pará (SEDUC/Belém) e Municipal de Educação e Cultura
(SEMEC/Belém); pesquisador no Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia
(PNCSA); pesquisador colaborador nos grupos de estudos NETAJ/UFF e GE-
PERUAZ/ICED/UFPa; possui experiência nas áreas de gestão e planejamento de
unidade de conservação de uso sustentável, geoprocessamento, cartografia social
e ecoturismo de base comunitária.
Marilda Teles Maracci
Graduada e mestre em Geografia pela Universidade Estadual Paulista e Doutora
em Geografia pelo Programa em Pós-Graduação da Universidade Federal Flumi-
miolo_geografia_UFF.indd 386 30/01/17 17:16
Org. Valter do Carmo Cruz e Denílson Araújo de Oliveira 387
nense UFF/Niterói. Atualmente, é professora no Departamento de Geografia da
Universidade Federal de Viçosa (MG). Temas em que atua: relações sociedade-na-
tureza; desenvolvimento e conflitos socioambientais/territoriais; povos originários.
Mateus de Moraes Servilha
Atualmente, é professor de Geografia na Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM. Doutor em Geografia pelo Programa de
Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense – UFF (2012). Mestre em
Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa – UFV (2008). Graduado
em Geografia (Bacharelado e Licenciatura) pela Universidade Federal de Viçosa
– UFV (2006). Experiências de pesquisa nas áreas de Teoria da Geografia e os
conceitos de região, lugar, paisagem e espaço público; a região, o regionalismo, a
regionalidade e a identidade regional; geografia e a teoria social descolonial; repre-
sentações sociais e identidade; antropologia econômica e sociologia econômica.
Otávio Gomes Rocha
Doutorando (Posgrado en Desarrollo Rural – Universidad Autónoma Me-
tropolitana México). Mestre em Geografia pela Universidade Federal do Para-
ná (UFPR). Graduação em Geografia (Licenciatura e Bacharelado) pela mesma
instituição. Integrante do Coletivo ENCONTTRA (Coletivo de Estudos sobre
Conflitos pelo Território e pela Terra).
Renato Emerson dos Santos
Graduado em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1994),
Mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro (1999) e Doutorado em Geografia pela Universidade Federal Flumi-
nense (2006). Atualmente, é professor adjunto da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, no Departamento de Geografia da Faculdade de Formação de
Professores (DGEO/FFP), campus de São Gonçalo (RJ), onde coordena o Nú-
cleo de Estudos e Pesquisas em Geografia, Relações Raciais e Movimentos Sociais
(NEGRAM). Tem experiência na área de Geografia, atuando principalmente nos
seguintes temas: movimentos sociais e Geografia, ensino de Geografia, cartografia
e lutas sociais, relações raciais, ações afirmativas no ensino superior e pré-vestibu-
lar para negros e carentes.
miolo_geografia_UFF.indd 387 30/01/17 17:16
388 GEOGRAFIA E GIRO DESCOLONIAL
Simone Raquel Batista Ferreira
Bacharel em Geografia (1995), licenciada em Geografia (1997) e mestre em
Geografia Humana (2002) pela Universidade de São Paulo; doutora em Geogra-
fia pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal Fluminense (2009).
Atualmente, é professora adjunta do Departamento de Geografia da Universida-
de Federal do Espírito Santo (UFES), líder do Grupo de Pesquisa Territorialida-
des Tradicionais (UFES), coordenadora do Programa de Extensão Laboratório
de Estudos Territoriais (LATERRA) e do Projeto de Extensão Observatório dos
Conflitos no Campo (OCCA). Tem experiência em estudos e trabalhos referentes
à questão agrária e socioambiental, com destaque aos saberes e formas de territo-
rialidade de povos e comunidades tradicionais (campesinos, indígenas, quilom-
bolas, extrativistas e outros), em conflito com as territorialidades hegemônicas.
Valter do Carmo Cruz
Graduado em Geografia pela Universidade Federal do Pará (2003), Mestrado
(2006) e Doutorado em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação da Univer-
sidade Federal Fluminense (2011). Atualmente, é professor adjunto do Departa-
mento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universi-
dade Federal Fluminense – UFF. Coordena o Núcleo de Estudos sobre Território,
Ações Coletivas e Justiça – NETAJ. Desenvolve pesquisas principalmente nos
seguintes temas: território, ação e política; movimentos sociais, identidades cole-
tivas e direito territoriais; território, conflitos e lutas por justiça ambiental/territo-
rial; geografia, pensamento descolonial e epistemologias do sul
miolo_geografia_UFF.indd 388 30/01/17 17:16
Você também pode gostar
- Cartilha Aprendendo Lei Do TempoDocumento70 páginasCartilha Aprendendo Lei Do TempoPaula Regina Cordeiro91% (11)
- Livrode Receitasda Ginecologia NaturalDocumento60 páginasLivrode Receitasda Ginecologia NaturalPaula Regina Cordeiro80% (5)
- Lista Dos Fodmap 2017Documento5 páginasLista Dos Fodmap 2017tita840% (1)
- CF 24 - VIVER NA ALMA - Joan Garriga Bacardí A5Documento157 páginasCF 24 - VIVER NA ALMA - Joan Garriga Bacardí A5Paula Regina CordeiroAinda não há avaliações
- Viver no limite: Território e multi/transterritorialidade em tempos de in-segurança e contençãoNo EverandViver no limite: Território e multi/transterritorialidade em tempos de in-segurança e contençãoAinda não há avaliações
- Depressão No IdosoDocumento21 páginasDepressão No IdosoLidia Chaves100% (1)
- Davi e MefiboseteDocumento6 páginasDavi e MefiboseteDouglas MedeiroAinda não há avaliações
- Apostila Colheita Mecanizada de Cana de AcucarDocumento19 páginasApostila Colheita Mecanizada de Cana de AcucarQueidismar BalbinoAinda não há avaliações
- ACSELRAD, H. Cartografias Sociais e TerritórioDocumento168 páginasACSELRAD, H. Cartografias Sociais e Territóriojohnfcg1980Ainda não há avaliações
- Geografias: Reflexões conceituais, leituras da ciência geográfica, estudos geográficosNo EverandGeografias: Reflexões conceituais, leituras da ciência geográfica, estudos geográficosAinda não há avaliações
- Atividade Avaliativa - Geografia - 6º Anos - RelevoDocumento2 páginasAtividade Avaliativa - Geografia - 6º Anos - RelevoGustavo Cezar Waltrick100% (4)
- A Geografia escolar e a cidade: Ensaios sobre o ensino de geografia para a vida urbana cotidianaNo EverandA Geografia escolar e a cidade: Ensaios sobre o ensino de geografia para a vida urbana cotidianaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Trilhas Geográficas: Múltiplas Possibilidades para o Ensino de GeografiaNo EverandTrilhas Geográficas: Múltiplas Possibilidades para o Ensino de GeografiaAinda não há avaliações
- A formação de professores de Geografia: Contribuições para mudança de concepção de ensinoNo EverandA formação de professores de Geografia: Contribuições para mudança de concepção de ensinoAinda não há avaliações
- Agentes, Hegemonia e Poder na Produção do EspaçoNo EverandAgentes, Hegemonia e Poder na Produção do EspaçoAinda não há avaliações
- CASTRO, Iná Elias De. GEOGRAFIA E POLÍTICA - TERRITÓRIO, ESCALAS DE AÇÃO E INSTITUIÇÕESDocumento150 páginasCASTRO, Iná Elias De. GEOGRAFIA E POLÍTICA - TERRITÓRIO, ESCALAS DE AÇÃO E INSTITUIÇÕESGuilherme Rosa de Almeida100% (1)
- Roberto Lobato Correa - Trajetórias Geográficas-Bertrand Brasil (1996)Documento305 páginasRoberto Lobato Correa - Trajetórias Geográficas-Bertrand Brasil (1996)BriggeAinda não há avaliações
- A Globalização Da Natureza e A Natureza Da GlobalizaçãoDocumento2 páginasA Globalização Da Natureza e A Natureza Da GlobalizaçãoLucas Soares100% (1)
- Geografia e Turismo: Reflexões InterdisciplinaresNo EverandGeografia e Turismo: Reflexões InterdisciplinaresAinda não há avaliações
- O Estágio Supervisionado e o Professor de Geografia: Múltiplos OlharesNo EverandO Estágio Supervisionado e o Professor de Geografia: Múltiplos OlharesAinda não há avaliações
- Resumo - O Que É GeografiaDocumento7 páginasResumo - O Que É GeografiaMariana MüllerAinda não há avaliações
- Espacialidades e Movimentos Sociais PDFDocumento201 páginasEspacialidades e Movimentos Sociais PDFhaglfwkhseAinda não há avaliações
- Por Uma Geopoética da Paisagem na Prática DidáticaNo EverandPor Uma Geopoética da Paisagem na Prática DidáticaAinda não há avaliações
- Lisiane Costa Claro - Entre A Pesca e A Escola - A Educao Dos Povos Tradicionais A Partir Da Comunidade Pesqueira Na Ilha Da Torotama Rio Grande-Rs PDFDocumento159 páginasLisiane Costa Claro - Entre A Pesca e A Escola - A Educao Dos Povos Tradicionais A Partir Da Comunidade Pesqueira Na Ilha Da Torotama Rio Grande-Rs PDFMichelle Gomes100% (1)
- Geograficidade, urbanidades rurais e campesinidade: uma análise do modo de vida dos moradores da comunidade de Santa Maria de Vila Amazônia (Parintins/AM)No EverandGeograficidade, urbanidades rurais e campesinidade: uma análise do modo de vida dos moradores da comunidade de Santa Maria de Vila Amazônia (Parintins/AM)Ainda não há avaliações
- 02 - Ruy Moreira - A Geografia Do Espaço-Mundo-211-221Documento6 páginas02 - Ruy Moreira - A Geografia Do Espaço-Mundo-211-221Irlan SimõesAinda não há avaliações
- Ensino De Geografia E Representação Do Espaço GeográficoNo EverandEnsino De Geografia E Representação Do Espaço GeográficoAinda não há avaliações
- Por Uma Critica Da Geografia Critica 404505Documento232 páginasPor Uma Critica Da Geografia Critica 404505EduardoMorari100% (2)
- Os Conceitos Fundamentais Da Pesquisa Soio-Espacial. Lopes de SouzaDocumento35 páginasOs Conceitos Fundamentais Da Pesquisa Soio-Espacial. Lopes de SouzaMauricio Gonzalez PachecoAinda não há avaliações
- Lencioni, Sandra - Regiao e GeografiaDocumento22 páginasLencioni, Sandra - Regiao e GeografiaPaulo Otávio Godoy75% (4)
- Novas tecnologias no ensino de geografia: possibilidades e limites em questãoNo EverandNovas tecnologias no ensino de geografia: possibilidades e limites em questãoAinda não há avaliações
- Processos Formativos, Prática E Ensino De GeografiaNo EverandProcessos Formativos, Prática E Ensino De GeografiaAinda não há avaliações
- Cartografia SocialDocumento16 páginasCartografia SocialAnonymous vOKkyUAinda não há avaliações
- CASTELLAR Educação GeográficaDocumento17 páginasCASTELLAR Educação GeográficaAntonio Júnior100% (1)
- Desafios e Perspectivas Do Ensino de Geografia No BrasilDocumento12 páginasDesafios e Perspectivas Do Ensino de Geografia No BrasilcesaryritaAinda não há avaliações
- Livro - o Ensino de Geografia Na EscolaDocumento15 páginasLivro - o Ensino de Geografia Na EscolaGilberto Oliveira Jr.33% (3)
- Geotecnologias na Educação: Geografia Escolar à Luz do Pensamento ComplexoNo EverandGeotecnologias na Educação: Geografia Escolar à Luz do Pensamento ComplexoAinda não há avaliações
- Berta Becker - A Amazônia Na Estrutura NacionalDocumento106 páginasBerta Becker - A Amazônia Na Estrutura NacionalDiegoAlmeida100% (1)
- Região e RegionalizaçãoDocumento24 páginasRegião e RegionalizaçãoKelly AlfaiaAinda não há avaliações
- Geografia e interfaces de conhecimento: Debates contemporâneos sobre ciência, cultura e ambienteNo EverandGeografia e interfaces de conhecimento: Debates contemporâneos sobre ciência, cultura e ambienteAinda não há avaliações
- Educação Geográfica do Agir Comunicativo: Geografia Escolar do Mundo da VidaNo EverandEducação Geográfica do Agir Comunicativo: Geografia Escolar do Mundo da VidaAinda não há avaliações
- Brasil Seculo XXI Por Uma Nova Regionali PDFDocumento215 páginasBrasil Seculo XXI Por Uma Nova Regionali PDFJondison Rodrigues100% (2)
- Ensino de geografia e a formação de professores: Desconstruções, percursos e rupturasNo EverandEnsino de geografia e a formação de professores: Desconstruções, percursos e rupturasAinda não há avaliações
- Os Estágios Nos Cursos de LicenciaturaDocumento32 páginasOs Estágios Nos Cursos de LicenciaturaGilvan MaiaAinda não há avaliações
- Des Territorializacao e Identidade PDFDocumento277 páginasDes Territorializacao e Identidade PDFVictor MoraesAinda não há avaliações
- Estágio Supervisionado E Prática De Ensino Em GeografiaNo EverandEstágio Supervisionado E Prática De Ensino Em GeografiaAinda não há avaliações
- SEEMAN. Mapas, Mapeamentos e Cartografias Da RealidadeDocumento12 páginasSEEMAN. Mapas, Mapeamentos e Cartografias Da RealidadeBruno Gontyjo Do CoutoAinda não há avaliações
- Texto 2 Callai H C Estudar o Lugar para Compreender o Mundo (Pág. 83 95)Documento14 páginasTexto 2 Callai H C Estudar o Lugar para Compreender o Mundo (Pág. 83 95)Jéferson Muniz Alves GracioliAinda não há avaliações
- Nguyen Quoc Ding, Patrick Daillier e Alain Pellet - Direito Internacional Público PDFDocumento222 páginasNguyen Quoc Ding, Patrick Daillier e Alain Pellet - Direito Internacional Público PDFbelahempkel624250% (4)
- Carlos Walter Porto GoncalvesDocumento40 páginasCarlos Walter Porto GoncalvesEmerson A. BuitragoAinda não há avaliações
- O Lugar Da Geografia BNCC Ensino MédioDocumento17 páginasO Lugar Da Geografia BNCC Ensino MédioBruno LopesAinda não há avaliações
- Vidal de La Blanche - Principios de Geo HumanaDocumento11 páginasVidal de La Blanche - Principios de Geo HumanaClaudia Baltazar100% (2)
- Categorias Espaciais Por Ruy MoreiraDocumento18 páginasCategorias Espaciais Por Ruy MoreiraAmadeu Zoe100% (1)
- Debates geográficos e a produção de contraespaçosNo EverandDebates geográficos e a produção de contraespaçosAinda não há avaliações
- Pedagogia de Projetos em GeografiaDocumento95 páginasPedagogia de Projetos em GeografiaAntônioAinda não há avaliações
- Conceito de Região - Luiz Alexandre G. CunhaDocumento18 páginasConceito de Região - Luiz Alexandre G. CunhaJefferson JéssicaAinda não há avaliações
- LIVRO O Livro Didático de Geografia - (2017)Documento282 páginasLIVRO O Livro Didático de Geografia - (2017)Gabriel Bairro100% (3)
- Brasil PresenteDocumento652 páginasBrasil PresenteRogerio SantosAinda não há avaliações
- Pedagogia Da Exclusão. in Pablo GentiliDocumento226 páginasPedagogia Da Exclusão. in Pablo GentiliMayara Lima Peixoto100% (2)
- MORAES, A. C. Bases Da Formação Territorial Do Brasil PDFDocumento10 páginasMORAES, A. C. Bases Da Formação Territorial Do Brasil PDFRhaissa Lima100% (1)
- Formação Do EspaçoDocumento135 páginasFormação Do EspaçoJessica GuedesAinda não há avaliações
- Livro-Geografia - Ensino - e - Formacao - de - Professores - Paula JuliaszDocumento200 páginasLivro-Geografia - Ensino - e - Formacao - de - Professores - Paula Juliasztyrone_melloAinda não há avaliações
- A Geografia Na Sala de AulasDocumento9 páginasA Geografia Na Sala de AulasCésar Andrés0% (1)
- O Ensino de Geografia No Seculo XxiDocumento8 páginasO Ensino de Geografia No Seculo XxiLusianne TorresAinda não há avaliações
- BOAS, L. G. v. - HAESBAERT, R. Regional-Global - Dilemas Da Região e Da Regionalização Na Geografia ContemporâneaDocumento5 páginasBOAS, L. G. v. - HAESBAERT, R. Regional-Global - Dilemas Da Região e Da Regionalização Na Geografia ContemporâneaLuciene AlvesAinda não há avaliações
- HOLZER, Werther. O Conceito de Lugar Na Geografia Cultural-HumanistaDocumento11 páginasHOLZER, Werther. O Conceito de Lugar Na Geografia Cultural-HumanistaPaula Regina CordeiroAinda não há avaliações
- Edital N 14-2018Documento30 páginasEdital N 14-2018Paula Regina CordeiroAinda não há avaliações
- Tese Ivanice Teixeira S. Ortiz - Tese Com AtaDocumento221 páginasTese Ivanice Teixeira S. Ortiz - Tese Com AtaPaula Regina CordeiroAinda não há avaliações
- Tese de Fernanda de Oliveira MatosDocumento269 páginasTese de Fernanda de Oliveira MatosPaula Regina CordeiroAinda não há avaliações
- Dissertacao - Versão Final - Paula ReginaDocumento206 páginasDissertacao - Versão Final - Paula ReginaPaula Regina CordeiroAinda não há avaliações
- Processo Seletivo FASE RJ 2023 - 17-04-23Documento3 páginasProcesso Seletivo FASE RJ 2023 - 17-04-23Paula Regina CordeiroAinda não há avaliações
- 4934-Texto Do Artigo-15704-1-10-20210625Documento19 páginas4934-Texto Do Artigo-15704-1-10-20210625Paula Regina CordeiroAinda não há avaliações
- Edital de Seleção Simplificado Modalidade Seleção de Currículo E Entrevista EDITAL Nº. 027/2022Documento3 páginasEdital de Seleção Simplificado Modalidade Seleção de Currículo E Entrevista EDITAL Nº. 027/2022Paula Regina CordeiroAinda não há avaliações
- 04-Lideranca Quilombola Dos Rios Arari e GurupaDocumento119 páginas04-Lideranca Quilombola Dos Rios Arari e GurupaPaula Regina CordeiroAinda não há avaliações
- Moises 2 - Ppga36 Tac 20222 MlesDocumento6 páginasMoises 2 - Ppga36 Tac 20222 MlesPaula Regina CordeiroAinda não há avaliações
- Sensoriamento e GeografiaDocumento26 páginasSensoriamento e GeografiaPaula Regina CordeiroAinda não há avaliações
- Aleitedebarros, Mariana Rabêlo ValençaDocumento15 páginasAleitedebarros, Mariana Rabêlo ValençaPaula Regina CordeiroAinda não há avaliações
- Tese Doutorado - DenilsonDocumento279 páginasTese Doutorado - DenilsonPaula Regina CordeiroAinda não há avaliações
- XWTXH TT LXrpy DLH2 KB ZDDocumento6 páginasXWTXH TT LXrpy DLH2 KB ZDPaula Regina CordeiroAinda não há avaliações
- IncraDocumento117 páginasIncraPaula Regina CordeiroAinda não há avaliações
- O Papel Ativo Da Geografia Um Manifesto - MiltonSantos Outros - Julho2000 PDFDocumento9 páginasO Papel Ativo Da Geografia Um Manifesto - MiltonSantos Outros - Julho2000 PDFPaula Regina CordeiroAinda não há avaliações
- Culto de Doutrina (Documento1 páginaCulto de Doutrina (Nayron CrateúsAinda não há avaliações
- A Lei Da Liberdade - Aleister Crowley PDFDocumento6 páginasA Lei Da Liberdade - Aleister Crowley PDFWendell AdasAinda não há avaliações
- A Amizade Na Adolescencia PDFDocumento8 páginasA Amizade Na Adolescencia PDFJoão Manuel Sebastião100% (1)
- Aula 1 - 030818Documento30 páginasAula 1 - 030818fghjkjhgfAinda não há avaliações
- TCC Italo e GustavoDocumento89 páginasTCC Italo e GustavoItalo PoffoAinda não há avaliações
- 1 História ClínicaDocumento8 páginas1 História ClínicaCat SAinda não há avaliações
- 2016 PDP Port Unespar-Apucarana LucianabatistamoreiraDocumento58 páginas2016 PDP Port Unespar-Apucarana LucianabatistamoreiraClaudemir De Oliveira Menezes - EEEFM Buriti - CRE/BuritisAinda não há avaliações
- Igreja em Oracao OutubroDocumento42 páginasIgreja em Oracao OutubroPastoral da liturgiaAinda não há avaliações
- Prova Vunesp Engenharia CivilDocumento16 páginasProva Vunesp Engenharia CivilGuilherme GodoyAinda não há avaliações
- Cantos para As Celebrações Eucarísticas Semanais - Maio 2022Documento5 páginasCantos para As Celebrações Eucarísticas Semanais - Maio 2022Vinicius Cordeiro Lima ClaudinoAinda não há avaliações
- Menu Comedy ClubDocumento4 páginasMenu Comedy ClubDesigner GraficoAinda não há avaliações
- Port 2 IADocumento4 páginasPort 2 IAMarco Tulio SoaresAinda não há avaliações
- Ano Da Morte de Ricardo ReisDocumento5 páginasAno Da Morte de Ricardo ReisVitor MiguelAinda não há avaliações
- Aerocinetose Na Aviação Civil e Suas Implicações Na Formação Do Piloto Comercial PDFDocumento56 páginasAerocinetose Na Aviação Civil e Suas Implicações Na Formação Do Piloto Comercial PDFJhonnasLimaAinda não há avaliações
- Estudo de CasoDocumento9 páginasEstudo de CasoAntonio UraniAinda não há avaliações
- A Traducao e A Letra Ou o Albergue Do LonginquoDocumento140 páginasA Traducao e A Letra Ou o Albergue Do LonginquoBruno Zinato Carminati100% (1)
- Aula 9 Isomeria e Quiralidade de ComplexosDocumento21 páginasAula 9 Isomeria e Quiralidade de ComplexosEllen AlmeidaAinda não há avaliações
- Junqueira CardiovascularDocumento17 páginasJunqueira CardiovascularBeatriz SellAinda não há avaliações
- Sumativa 3 - Eabc 2023Documento2 páginasSumativa 3 - Eabc 2023tonicocoss1234Ainda não há avaliações
- Resenha Critica Do Filme Divergente.Documento4 páginasResenha Critica Do Filme Divergente.Ed AlexandreAinda não há avaliações
- MatemáticDocumento48 páginasMatemáticIgor VasconcelosAinda não há avaliações
- Prancha 03 - Planta Baixa - Cobertura - 3d Dos Banheiros + Tabela de EsquadriasDocumento1 páginaPrancha 03 - Planta Baixa - Cobertura - 3d Dos Banheiros + Tabela de EsquadriasMarcio Rodrigues GomesAinda não há avaliações
- Receitas Assadeira PanexDocumento25 páginasReceitas Assadeira PanextomateverdefritoAinda não há avaliações
- A Natureza Do Juízo InvestigativoDocumento17 páginasA Natureza Do Juízo InvestigativoCayo MoraesAinda não há avaliações