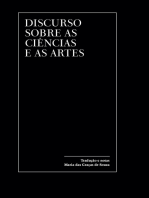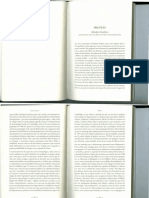Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Provincializando A Europa - Antropologia 2
Enviado por
João Pedro MendesDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Provincializando A Europa - Antropologia 2
Enviado por
João Pedro MendesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Prefácio da edição de 2007
Provincializando a Europa em Tempos Globais
Apesar de todas as críticas que poderiam ser feitas a ele, a ideia de
Roland Barthes de que um mito funciona fazendo o histórico parecer
“natural” tinha algo de interessante. Claro que, por “histórico”,
Barthes não significava nada que pudéssemos encontrar nos livros
sobre história, porque, para ele, tais livros pertenceriam a sistemas
míticos de representação. "História", no famoso ensaio de Barthes
sobre "mito hoje", referia-se à atividade de viver, uma atividade que,
pelo menos de acordo com Barthes, era sobre fechar a lacuna em
algum grau (pois nunca poderia ser totalmente fechada) entre a
palavra e o mundo, orientando a linguagem mais diretamente para
seus referentes "lá fora".1 Quando apanhadas na atividade de viver, as
palavras teriam principalmente conotação direta e prática. “Europa”
não era uma palavra que me incomodasse em minha infância ou
juventude bengali de classe média enquanto eu crescia em uma
Calcutá pós-colonial. O legado da Europa - ou do domínio colonial
britânico, pois foi assim que a Europa entrou em nossas vidas - estava
em todos os lugares: nas regras de trânsito, nos arrependimentos dos
adultos de que os indianos não tinham civilidade, nos jogos de futebol
e críquete, no meu uniforme escolar, nos ensaios e poemas bengali-
nacionalistas críticos da desigualdade social, especialmente do
chamado sistema de castas, nos debates implícitos e explícitos sobre
casamento amoroso versus arranjado, nas sociedades literárias e nos
clubes de cinema. Na vida prática e quotidiana, a “Europa” não era um
problema a ser conscientemente nomeado ou discutido. Categorias ou
palavras emprestadas de histórias europeias encontraram novas casas
em nossas práticas. Fazia todo o sentido, por exemplo, quando amigos
radicais na faculdade se referiam a alguém - digamos, um suposto
sogro obstrucionista - como estando cheio de atitudes "feudais", ou
quando debatíamos - por horas intermináveis sobre xícaras baratas de
café ou chá em restaurantes baratos ou lojas de chá, onde geralmente
ficávamos mais tempo do que o esperado - se os capitalistas indianos
eram uma "burguesia nacional" ou uma classe "compradora" que
jogasse em segundo plano em relação ao capital estrangeiro.
Praticamente todos nós sabíamos o que essas palavras significavam
sem ter que colocá-las sob qualquer tipo de microscópio analítico.
Seus “significados” não iam além do ambiente imediato em que
estavam sendo usados.
Por que, então, falar de “provincializar a Europa”? A resposta a
esta pergunta tem a ver com a história do meu próprio deslocamento
desta vida cotidiana de maneiras que eram tanto metafóricas quanto
físicas. Vou contar a história brevemente, pois as implicações dela vão,
eu acho, além do meramente auto-biográfico. Meu deslocamento
metafórico da minha vida cotidiana de classe média aconteceu quando
treinei, nos círculos marxistas da cidade, para ser um historiador
profissional para quem as ideias de Marx deveriam ser uma
ferramenta analítica consciente. Palavras familiares de seu uso diário
(eu deveria explicar que eu tinha sido um estudante de ciência e
gestão de negócios antes) agora cresciam asas analíticas, elevando-se
ao nível do que Barthes teria chamado de metalinguagens de "segunda
ou terceira ordem". O marxismo, ainda mais do que o liberalismo, foi
a forma mais concentrada na qual se encontrou os passados
intelectuais da Europa nos círculos de ciências sociais indianos.
Foi há cerca de duas décadas, quando completei o manuscrito do
meu livro Repensando a História da Classe Trabalhadora: Bengala
1890–1940, que a questão que este livro aborda começou a se
formular.2 As raízes do meu esforço na história do trabalho
remontaram a alguns debates apaixonados no marxismo bengali e
indiano da minha juventude sobre o papel histórico mundial que o
proletariado poderia desempenhar em um país como a Índia que era,
ainda, predominantemente rural. Havia coisas óbvias a serem
aprendidas com as revoluções chinesa e vietnamita. No entanto,
quanto mais eu tentava imaginar as relações nas fábricas indianas por
meio de categorias disponibilizadas por Marx e seus seguidores, mais
eu me tornava ciente de uma tensão que surgia a partir das origens
profundamente - e pode-se dizer, paroquialmente - europeias dos
pensamentos de Marx e de seu indubitável significado internacional.
Chamar personagens históricos cujos análogos eu conhecia na vida
cotidiana de tipos familiares por nomes ou categorias derivados de
revoluções na Europa em 1789 ou 1848 ou 1871 ou 1917 parecia cada
vez mais uma atividade de duplo distanciamento. Havia, em primeiro
lugar, a distância da objetividade histórica que eu estava tentando
decretar. Mas também havia a distância do erro de reconhecimento
cômico semelhante ao que eu tinha experimentado muitas vezes
assistindo a performances de peças de teatro bengali em que os atores
bengalis, escalados como europeus coloniais, representavam suas
imitações fortemente acentuadas de Bengali de como os europeus
poderiam ter falado Bengali, ou seja, seus próprios estereótipos de
como os europeus podem ter nos percebido! Algo semelhante estava
acontecendo com meus personagens da história bengali e indiana,
agora vestidos, em meu texto, nos trajes europeus emprestados pelo
drama marxista da história. Havia um senso de comicidade em minha
própria sinceridade que eu não podia ignorar.
No entanto, na discussão de Marx de que eu era herdeiro em
Calcutá - a discussão sempre foi mediada, por razões históricas, pela
literatura de língua inglesa sobre o assunto - não havia espaço para
pensar em Marx como alguém pertencente a certas tradições
europeias de pensamento que ele pode até ter compartilhado com
intelectuais que não eram marxistas ou que pensavam de maneira
oposta à dele. Isso não foi algo que surgiu de uma deficiência de
leitura. Calcutá não tinha escassez de bibliófilos. As pessoas
conheciam recantos de bolsas de estudo europeias. Mas não havia
senso de práticas acadêmicas como parte de tradições intelectuais
vivas e disputadas na Europa. Nenhuma ideia de que uma tradição
intelectual viva nunca forneceu soluções finais para as questões que
surgiram dentro dela. O marxismo era simplesmente "verdadeiro". A
ideia de "desenvolvimento desigual", por exemplo, tão central para
grande parte da historiografia marxista, foi tratada como uma peça de
verdade, no máximo uma ferramenta analítica, mas nunca como uma
maneira provisória de organizar informações, ou mesmo como algo
que foi originalmente implantado na oficina do Iluminismo Escocês.
Marx estava certo (embora precisasse de atualização) e os anti-
marxistas estavam claramente errados, se não imorais: tais eram as
duras antinomias políticas pelas quais pensávamos. Mesmo um
Weber não teve um olhar muito sério na década de 1970 na erudição
apaixonada de historiadores indianos de persuasão marxista. Havia,
de fato, alguns cientistas sociais não-marxistas talentosos e históricos
na Índia. Os nomes de Ashis Nandy e do falecido Ashin Das Gupta ou
Dharma Kumar vêm facilmente à mente. Mas nos dias inebriantes e
conturbados de uma entente política e cultural entre a Índia do Sr.
Gandhi e a então União Soviética, foram os marxistas que exerceram
prestígio e poder nas instituições acadêmicas da Índia.
Minha inquietação inicial - que mais tarde se tornou uma
questão de curiosidade intelectual - sobre a tensão entre as raízes
europeias dos pensamentos de Marx e seu significado global não tinha
muitos apreciadores entre meus amigos marxistas na Índia, não
naquela época. A única voz dissidente significativa dentro do campo
marxista era a do Maoismo Indiano. O movimento maoísta, conhecido
como movimento Naxalita (1967–1971) após uma revolta camponesa
na vila de Naxalbari, na Bengala Ocidental, sofreu uma derrota
política catastrófica no início dos anos 1970, quando o governo
esmagou implacavelmente a rebelião com uma mão de ferro. 3 O
maoísmo, é verdade, tinha uma presença intelectual vibrante nos
primeiros trabalhos dos Estudos Subalternos, um grupo com o qual
passei a me identificar nos anos 1980 e posteriores. Mas o próprio
Maoismo se tornou uma formação soteriológica (NT: doutrina ou
estudo da salvação do homem por um redentor) no momento em que
comecei a treinar como cientista social e suas "correções" ou
"modificações" dos pensamentos de Marx eram práticas. Sobre a
questão da europeicidade de Marx, os maoístas estavam
desinteressados.
Meu desconforto teórico foi agravado pela minha experiência
cotidiana de deslocamento físico na Índia. Esta experiência foi outra
influência importante neste projeto. Deixei a Índia em dezembro de
1976 para buscar um doutorado em história na Universidade Nacional
Australiana e vivi fora da Índia desde então, embora tenha me
envolvido em discussões com meus amigos indianos por meio de
visitas anuais, palestras e publicações regulares na Índia em inglês e
meu primeiro idioma, Bangla. Sem a experiência da migração, no
entanto - uma profunda combinação de perda e ganho, a abertura de
novas possibilidades que não necessariamente compensam as que se
fecham - duvido que eu teria escrito este livro.
Até chegar à Austrália, eu nunca havia recebido seriamente as
implicações do fato de que uma ideia abstrata e universal
característica da modernidade política em todos os lugares - a ideia de
igualdade, digamos, ou de democracia ou mesmo da dignidade do ser
humano - poderia parecer totalmente diferente em diferentes
contextos históricos. A Austrália, como a Índia, é uma democracia
eleitoral próspera, mas o Dia das Eleições não tem nada da atmosfera
de festa a que eu estava acostumado na Índia. Coisas que na vida
cotidiana os australianos assumem como essenciais para preservar a
dignidade do indivíduo - seu espaço pessoal, por exemplo - são
simplesmente impraticáveis em minha Índia pobre e lotada. Além
disso, as estruturas de sentimentos e emoções subjacentes a práticas
específicas eram coisas que eu me sentia um pouco estranho até que,
com o tempo, eu mesmo passei a habitar muitas delas.
Ser um migrante me fez ver, mais claramente do que eu tinha no
passado, a relação necessariamente instável entre qualquer ideia
abstrata e sua instanciação concreta. Nenhum exemplo concreto de
um abstrato pode afirmar ser uma corporificação do abstrato sozinho.
Nenhum país, portanto, é um modelo para outro país, embora a
discussão da modernidade que pensa em termos de “recuperar o
atraso” precisamente coloque tais modelos. Não há nada como a
“astúcia da razão” para garantir que todos nós convergimos no mesmo
ponto terminal da história, apesar de nossas aparentes diferenças
históricas. Nossas diferenças históricas realmente fazem a diferença.
Isso acontece porque nenhuma sociedade humana é uma tabula rasa.
Os conceitos universais de modernização política encontram a pré-
existência de conceitos, categorias, instituições e práticas através dos
quais são traduzidos e configurados de forma diferente.
Se este argumento é verdadeiro para a Índia, então é verdadeiro
para qualquer outro lugar também, incluindo, é claro, a Europa ou,
em geral, o Ocidente. Esta proposição tem consequências
interessantes. Significa, em primeiro lugar, que a distinção que
desenhei acima entre o figurativo (como um conceito é visualizado na
prática) e os lados discursivos de um conceito - sua pureza abstrata,
por assim dizer - é em si uma distinção parcial e exagerada. Como
Ferdinand de Saussure nos ensinou há muito tempo, pode-se
distinguir entre a “imagem sonora” de uma ideia e sua “imagem-
conceito” apenas de forma artificial. Os dois lados se fundem um no
outro.4 Se isso for verdade, como eu acho que é, segue-se uma segunda
conclusão importante. É que as chamadas ideias universais que os
pensadores europeus produziram no período do Renascimento ao
Iluminismo e que, desde então, influenciaram projetos de
modernidade e modernização em todo o mundo, nunca poderiam ser
conceitos completamente universais e puros (desde que expressíveis
em prosa - não estou preocupado aqui com linguagem simbólica como
álgebra). Pois a própria linguagem e as circunstâncias de sua
formulação devem ter importado para eles insinuações de histórias
pré-existentes que eram singulares e únicas, histórias que pertenciam
aos múltiplos passados da Europa. Elementos irredutíveis dessas
histórias paroquiais devem ter permanecido em conceitos que, de
outra forma, pareciam ser destinados a todos.
“Provincializar” a Europa era precisamente para descobrir como e
em que sentido as ideias europeias que eram universais foram
também, ao mesmo tempo, retiradas de tradições intelectuais e
históricas muito particulares que não podiam reivindicar qualquer
validade universal. Era fazer uma pergunta sobre como o pensamento
estava relacionado ao lugar. O pensamento pode transcender os
lugares de sua origem? Ou os lugares deixam sua marca no
pensamento de forma a colocar em questão a ideia de categorias
puramente abstratas? O meu ponto de partida em todo este
questionamento, como já disse antes, foi a presença silenciosa e
quotidiana do pensamento europeu na vida e nas práticas indianas. O
Iluminismo fazia parte dos meus sentimentos. Só que eu não o
conhecia como tal. Marx era um nome bengali familiar. Sua educação
alemã nunca foi comentada. Estudiosos bengaleses traduziram Das
Capital sem o menor indício de quaisquer preocupações filológicas.
Esse reconhecimento de uma dívida profunda - e muitas vezes
desconhecida - ao pensamento europeu foi meu ponto de partida; sem
isso, não poderia haver uma "Europa provinciana". Um dos objetivos
do projeto era, precisamente, estar ciente da natureza específica dessa
dívida.
A relevância global do pensamento europeu, então, era algo que eu
tomava como garantido. Também não questionei a necessidade do
pensamento universalista. Nunca foi, por exemplo, um objetivo deste
livro "pluralizar a razão", como um revisor sério sugeriu em um erro -
eu uso essa palavra com relação à leitura do projeto. 5 Como meu
capítulo sobre Marx mostrará, argumentei não contra a ideia de
universais como tal, mas enfatizei que o universal era uma figura
altamente instável, um espaço reservado necessário em nossa
tentativa de pensar nas questões da modernidade. Vislumbramos seus
contornos apenas como e quando um determinado usurpou seu lugar.
No entanto, nada de concreto e particular poderia ser o próprio
universal, pois entrelaçado com o valor sonoro de uma palavra como
"certo" ou "democracia" estavam imagens-conceito que, enquanto
(aproximadamente) traduzíveis de um lugar para outro, também
continham elementos que desafiavam a tradução. Tal desafio da
tradução era, é claro, parte do processo cotidiano de tradução. Uma
vez colocado em prosa, um conceito universal carrega dentro dele
traços do que Gadamer chamaria de "preconceito"- não um viés
consciente, mas um sinal de que pensamos a partir de acréscimos
particulares de histórias que nem sempre são transparentes para nós. 6
Provincializar a Europa era então saber como o pensamento
universalista sempre foi e era modificado por histórias específicas, se
poderíamos ou não exaurir tais passados completamente.
Ao realizar este projeto, eu estava ciente de que havia e ainda há
muitas Europas, reais, históricas e fantasiadas. Talvez os limites entre
elas sejam porosos. Minha preocupação, no entanto, era a Europa que
historicamente assombrava os debates sobre a modernidade na Índia.
Esta Europa foi feita à imagem de uma potência colonizadora e, como
afirmei no livro, a construção de uma Europa deste tipo não foi um ato
dos europeus sozinhos. Esta Europa foi, no sentido em que Lévi-
Strauss usou dessa palavra, um “mito” fundador do pensamento e dos
movimentos emancipatórios na Índia. Pensar na modernização, no
liberalismo, no socialismo - ou seja, em várias versões da
modernidade - assumiu a existência desta Europa. Esta era a Europa
que era vista como o lar original dos modernos. Nós, na Índia - e
nossos líderes políticos e intelectuais antes de nós - usamos esta
Europa para resolver nossos debates sobre as tensões decorrentes das
desigualdades e opressões diárias na Índia. Por muitos anos,
esperamos na Índia por um retorno desta Europa na forma de
"democracia", "civilização burguesa", "cidadania", "capital" e
"socialismo", da mesma forma que Gramsci uma vez esperou pela
"primeira revolução burguesa" de 1789 para se reencenar em seu país.
A primeira parte da Provincialização da Europa (chamaremos de
PE) procurou envolver a forma de pensamento que tornou possível
postular tal Europa. Em questão, argumentei, estava uma vertente
particular do pensamento desenvolvimentista que chamei de
"historicismo". Era um modo de pensar sobre a história em que se
assumia que qualquer objeto sob investigação mantinha uma unidade
de conceção ao longo de sua existência e alcançava plena expressão
por meio de um processo de desenvolvimento no tempo histórico
secular. Muito do meu pensamento aqui foi inspirado pelo que
Foucault havia dito, por exemplo, ao criticar o historicismo em seu
ensaio “Nietzsche, Genealogia, História”.7 Mesmo no início do meu
livro sobre história do trabalho, tentei pensar com a crítica de
Foucault de qualquer categoria histórica que seja "transcendental em
relação ao campo dos eventos ou que corra em sua mesmice vazia ao
longo do curso da história." 8 Mas o pensamento pós-estruturalista não
era o único terreno sobre o qual eu queria situar minha crítica. Não
pude deixar de notar o fato de que, muito antes de Foucault, um
aspecto radical do pensamento nacionalista anticolonial na Índia
havia de fato repudiado o que chamei de "historicismo", primeiro
demandando e, independentemente, realmente concedendo cidadania
plena às massas isoladas, em um momento em que todas as teorias
clássicas e ocidentais da democracia aconselhavam um programa de
duas etapas: primeiro educá-las e, assim, desenvolvê-las e, em
seguida, conceder-lhes seus direitos de cidadania. Essa relação crítica
com a história do desenvolvimento ou da época era, assim, eu
afirmava, uma parte da herança anticolonial. Não foi uma
coincidência que o historiador dos Estudos Subalternos (e nosso
mentor) Ranajit Guha, em seu livro sobre a insurgência camponesa na
Índia colonial, rejeitasse a caracterização de Hobsbawm dos
camponeses modernos como "pré-políticos". 9 A base do pensamento
anticolonial era claramente um terreno fértil para o cultivo das críticas
pós-estruturalistas de Foucault ao "historicismo".
A Parte I do livro junta-se a esta crítica de vários ângulos. O
restante do livro demonstra com exemplos históricos como a
modernidade foi um processo histórico que envolveu não apenas a
transformação das instituições, como também a tradução categórica e
prática.
II
Existe, espero, muita história em PE. Mas eu não pensei desta história
como representante deste ou daquele grupo em sociedades
particulares. Como tenho sido associado a Estudos Subalternos, que
era de fato um projeto de escrever na história do Sul da Ásia os
passados de grupos marginais e subalternos, alguns críticos viram em
PE apenas mais uma evidência do que o historiador indiano Sumit
Sarkar uma vez chamou de "o declínio do subalterno em Estudos
Subalternos", uma vez que a segunda parte da PE extrai todo o seu
material ilustrativo da história das classes médias bengali, a chamada
bha-dralok.10 Esta crítica veio de muitos lugares, mas deixe-me
simplesmente citar de uma fonte, um comentário anônimo e irritado
que foi postado na Web no site onde a Amazon.com anunciou pela
primeira vez este livro. A resenha terminou dizendo:
Finalmente, o fato de que o "arquivo de Chakrabarty" é um homem
de classe média bengali e que ele, juntamente com seus associados,
está atolado em teorizar sobre a negligência da pesquisa substantiva
da história subalterna fala por si 11
Os pontos de elipse na citação acima não indicam a matéria
que deixei de fora da frase; eles são originais da frase citada,
um gesto dramático por parte do crítico sobre a obviedade
de seu ponto. O que mais ele ou ela poderia ter a dizer?
Minha escolha de material da história do grupo social de
onde vim falou por si!
Não seleciono este comentário fora da curva. A PE teve críticas
piores nas mãos de alguns críticos indianos hostis. Afinal, os leitores
são livres para fazer o que quiserem de um livro. Além disso, aprende-
se até com as críticas mais hostis. Cito essa crítica em particular
porque, a meu ver, o que mantém o fardo dessa crítica é uma leitura
desatenta do livro, especialmente a introdução, na qual tentei explicar
meus objetivos e métodos. Mesmo que um leitor discorde de meus
objetivos, a etiqueta do criticismo exige que minha própria declaração
explícita sobre o ponto em questão seja reconhecida. Eu disse na
introdução que as histórias que contei aqui não constituíam nenhuma
história representativa da bhadralok. Nem era meu objetivo fornecer
um. Eu disse que as pessoas cujos escritos e histórias eu desenhei não
eram representativas da maioria dos bhadralok, que esses fragmentos
da história de bhadralok entraram no livro principalmente como
parte de um argumento metodológico. Mas alguns críticos
simplesmente não prestaram atenção a essas declarações. Eles me
acusaram de deixar a história subalterna para as pastagens mais
“elitistas” de passados bhadralok. (Eu tenho muitos parentes
indigentes e semi-educados para não saber o quão infeliz e
insignificante - se eu puder ser autorizado a cunhar uma palavra - a
expressão "elite" está neste contexto, mas deixarei isso passar.) Suas
críticas vieram da ausência de qualquer atenção ao que eu havia dito
ao explicar a mudança entre as partes I e II do livro. “É difícil
antecipar problemas de leitores que são desatentos”, disse E. P.
Thompson uma vez em frustração. 12 É realmente difícil, mas deixe-me
tentar mais uma vez.
Um dos pontos maiores da PE é que o pensamento crítico combate
o preconceito e ainda carrega preconceito ao mesmo tempo, pois o
pensamento crítico, a meu ver, permanece relacionado a lugares (por
mais tênue que tal relação possa parecer). A PE, assim, situa-se um
pouco em desacordo com as várias maneiras pelas quais muitos
teóricos, em sua maioria marxistas, criticam a ideia do local. De fato,
essa posição é comum a tantos marxistas que destacar uma
determinada análise pode ser um pouco injusto. Comum ao seu
pensamento é a ideia de que qualquer sentido do “local” é um
fenômeno superficial da vida social; isso é, em última análise, algum
tipo de efeito do capital. Esses estudiosos enfatizam, portanto, a
necessidade de entender como o sentido do local é realmente
produzido. Ao olhar para cada sentido de lugar desta maneira
particular, esses críticos geralmente não fazem perguntas de si
mesmos sobre o lugar de onde vem seu próprio pensamento. Eles
presumivelmente produzem suas críticas de "lugar nenhum" ou - o
que é a mesma coisa - "todo lugar" de um capitalismo que sempre
parece ser de escopo global. Em PE, aceitei isso como um tipo de
pensamento universalista - é reflexo do que chamei de História 1 em
meu capítulo sobre Marx -, mas é um modo de pensar que, em meu
julgamento, evacua todo o sentido de lugar vivido, atribuindo-o ao que
se supõe ser um nível mais profundo e determinante, o nível em que o
modo de produção capitalista cria um espaço abstrato. No capítulo
sobre Marx, procuro produzir uma leitura que resista a essa
interpretação e veja a ressaca de histórias singulares e únicas, minhas
Histórias 2s, como sempre travando o impulso de tais histórias
universais e produzindo o concreto como uma combinação da lógica
universal da História 1 e dos horizontes heterotemporais de inúmeras
Histórias 2s. O espaço me impede de desenvolver ainda mais este
ponto, mas também me arrisco a repetir o que já disse no capítulo 2.
Os teóricos da globalização, como Michael Hardt e Antonio Negri,
por outro lado, celebram as formas contemporâneas de impasse como
uma ferramenta exorbitante a ser usada na luta global contra o
capital. Eles também partem da proposição de que "posições
localistas" são "falsas e prejudiciais". Falso, porque ao “naturalizar” as
diferenças locais, eles colocam a “origem” de tais diferenças “fora de
questão”. E prejudicial, porque é preciso reconhecer que as
"identidades locais" realmente "alimentam e apoiam o
desenvolvimento do regime imperial capitalista". É a globalização que
“coloca em jogo circuitos móveis e moduladores de diferenciação e
identificação”. "O que precisa ser abordado, em vez disso",
argumentam Hardt e Negri, "é precisamente a produção da
localidade".13 O “lugar” que o capital cria hoje através de sua própria
mobilidade e do trabalho é, em sua língua, um “não-lugar”. 14 Portanto,
o trabalho deve exigir "cidadania global"- até mais mobilidade do que
o capital permite no momento - e tornar esse "não-lugar" "ilimitado".
Através dessa mobilidade crescerá o sujeito revolucionário - "a
multidão"- que desafiará o que Hardt e Negri chamaram de Império. 15
Em seus termos, portanto, a luta contra o capital deve, ao mesmo
tempo, ser uma luta contra todas as formas de apego a lugares
específicos, pois o desejo de mobilidade absoluta só pode basear-se no
cultivo de um senso planetário de apego.
Não nego os insights que seguem em contextos específicos -
especialmente no nível da história universal do capital, minha
História 1 - a partir de tais linhas de pensamento como elaborei acima.
Mas, no geral, acho que esse argumento está alheio à própria história.
É alheio à distinção entre a mobilidade dos colonizadores que os
europeus desfrutaram uma vez e a mobilidade de mão de obra
migrante hoje, qualificada ou não qualificada. Onde quer que os
europeus fossem em busca de novas casas, seus recursos imperiais e
sua dominação dos nativos possibilitavam que eles se reproduzissem -
com modificações locais, sem dúvida - muitos dos elementos
importantes dos mundos da vida que haviam deixado para trás. Os
colonizadores europeus em algum país já perderam alguma língua
própria através da migração? Não. Muitas vezes os nativos perderam.
Da mesma forma, os migrantes em países coloniais ou europeus vivem
hoje com medo de que seus filhos sofram essa perda. Grande parte de
seu ativismo cultural local é orientado para evitar que isso aconteça.
Somente um crítico cego para a questão de como os legados desiguais
do governo colonial realmente influenciam os processos
contemporâneos de globalização pode descartar esse ativismo como a
doença da “nostalgia”.16
A diferença nem sempre é um truque de capital. Meu senso de
perda resultante da minha globalização nem sempre é um efeito da
estratégia de marketing de outra pessoa. Nem sempre estou sendo
enganado pelo capital, pois o engano nem sempre faz de mim um
consumidor. Muitas vezes, a perda em questão diz respeito a práticas
culturais que, por assim dizer, não mais "venderão". Nem todos os
aspectos do nosso sentido do local podem ser mercantilizados (eu
gostaria que pudesse). PE mobiliza argumentos e evidências que estão
em tensão com análises que apontam para caminhos de salvação
inevitavelmente procedendo através da atração do não-lugar. 17
Trabalhando através de Heidegger e da tradição hermenêutica de
pensar a que Gadamer pertence, PE tenta trazer para uma tensão
produtiva gestos de pensar de lugar nenhum e formas particulares de
estar no mundo. Se minha crítica funcionou ou não - não reivindico
finalidade para minha própria crítica - a proposição de que o
pensamento está relacionado aos lugares é central para meu projeto
de provincialização da Europa. Assim, coube a mim demonstrar de
onde - que tipo de lugar - minha própria crítica foi emitida, pois esse
ser de um lugar é o que deu à crítica tanto sua carga quanto suas
limitações. Eu disse que, para realizar minha crítica, eu precisava
pensar em formas de vida que eu conhecia com algum grau de
intimidade e, portanto, recorria a materiais de aspectos da história da
bhadralok que moldaram profundamente minha própria relação com
o mundo. Foi apenas no caso dessa história que reivindiquei alguma
competência que me permitiria demonstrar com exemplos os
processos translatórios (NT: tradutórios) da modernidade. Isso não
nega que devem haver muitos locais diferentes, mesmo dentro de
Bengala ou da Índia, a partir do qual se poderia provincializar a
Europa com resultados diferentes. 18 Mas o argumento sobre lugar e
não lugar ainda pode permanecer conosco.
III
Em resumo, então, a PE é um produto da globalização. A globalização
era sua condição de possibilidade. Mas também é, como Paul Stevens
observou em um ensaio contendo uma leitura astuta deste livro, uma
tentativa de encontrar uma posição a partir da qual falar das perdas
que a globalização causa.19 Agradeço a leitura de Stevens, mas seria
justo reconhecer como a globalização, particularmente na Europa e
em estudos europeus, levou este livro a territórios intelectuais
emocionantes que eu não poderia ter previsto. Como os estudiosos e
europeístas europeus têm lutado para dar sentido às mudanças que
acontecem no continente e em suas próprias esferas de estudos, como
eles se envolveram em discussões sobre o futuro da Europa após a
globalização e abordaram questões como "Fortaleza Europa" versus
"Europa multicultural", novas vias de investigação se abriram. Em sua
busca por línguas para entender o lugar dos imigrantes e refugiados
não europeus na Europa, a questão da inclusão da Turquia na UE e o
lugar da Europa Oriental pós-socialista, eles se voltaram para modelos
de pensamento pós-colonial para ver se existem insights a serem
extraídos desse ramo da literatura. Parece ter havido
desenvolvimentos comparáveis nos estudos medievais e religiosos
(europeus). Os estudiosos começaram a questionar a própria ideia do
“medieval”, o esquema de periodização que está subjacente a tal
denominação.20 Estudiosos de teologia, por outro lado, estão
empenhados em repensar a questão da agência divina na
"historiografia religiosa".21 Foi uma questão de gratificação para mim
que a PE tenha sido aproveitada em várias dessas discussões, e eu me
encontrei envolvido, de forma mais lucrativa, com trabalhos de
colegas em áreas distantes das da minha especialização.
Gostaria de terminar expressando minha gratidão a alguns
indivíduos em particular cujos comentários amigáveis, mas críticos,
comunicados pessoalmente a mim nos anos decorridos desde a
publicação da primeira edição me ajudaram a ver os limites e as
possibilidades deste trabalho. Mas mesmo aqui, não posso ser
exaustivo. Posso citar apenas alguns por razões óbvias de espaço e
pedir o perdão daqueles que não menciono: Bain Attwood, Ihar
Babkov, Etienne Balibar, Teresa Berger, Ritu Birla, Marina Bollinger,
Beppe Carlsson, Amit Chaudhuri, Kathleen Davis, Carola Dietze,
Carolyn Dinshaw, Saurabh Dube, Constantin Fa- solt, Dilip Gaonkar,
Amitav Ghosh, Carlo Ginzburg, Catherine Halpern, Amy Hollywood,
Lynn Hunt, John Kraniauskas, Claudio Lomnitz, Alf Lu ¨ dtke,
Rochona Majumdar, Ruth Mas, Achille Mbembe, Allan Megill, Cheryl
McEwan, Hans e Doris Medik, Sandro Mezzadra, Donald Moore,
Aamir Mufti, Almira Ousmanova, Anand Pandian, Luisa Passerini,
Ken Pomeranz, Jorn Ru ¨ sen, Birgit Schaebler, Ajay Skaria, R.
Srivatsan, Bo Strath, Charles Taylor, Susie Tharu, Peter Wagner,
Milind Wakankar e Kathleen Wilson. Dwaipayan Sen forneceu uma
assistência de pesquisa muito apreciada: meus agradecimentos a ele.
Chicago
1 de Fevereiro de 2007
NOTAS
1. Roland Barthes, “Myth Today”, em Mythologies, trad. Annette Lavers
(Nova York: Hill e Wang, 1984), pp. 109–159.
2. Dipesh Chakrabarty, Repensando a História da Classe Trabalhadora:
Bengala 1890-1940 (Princeton: Princeton University Press, 2000).
3. Para uma história deste movimento, veja Sumanta Banerjee, Revolução
Fervente da Índia: A Revolta Naxalita (Londres: Zed, 1984).
4. Ferdinand de Saussure, Curso de Linguística Geral, ed. Charles Bally e
Albert Sechehaye, trad. Wade Baskin (Nova York: McGraw Hill, 1966), pp.
65–67.
5. Ver Jacques Pouchepadass 's review of PE, published under the title
“Plural- izing Reason,” in History and Theory 41, no. 3 (2002): 381–391.
6. O “reconhecimento”, escreve Gadamer, “de que todo entendimento
inevitavelmente envolve algum preconceito dá ao problema hermenêutico seu
impulso real”. Hans-Georg Gadamer, Verdade e Método (Londres: Sheed e
Ward, 1979), p. 239. Gadamer geralmente vê os preconceitos como "condições
de entendimento". Veja a discussão em
pp. 235–258.
7. Michel Foucault, “Nietzsche, Genealogy, History” in his Language,
Counter-Memory, Practice, ed. Donald F. Bouchard, trad. Donald F.
Bouchard e Sherry Simon (Ithaca: Cornell University Press, 1977), pp. 139–
164.
8. Michel Foucault, “Truth and Power” in his Power/Knowledge: Selected
In-terviews and Other Writings, 1972–1977, ed. Colin Gordon, trans. Colin
Gordon et al. (Brighton: The Harvester Press, 1980), p. 117.
9. Veja a discussão no capítulo introdutório deste livro. Veja também o
ensaio “A Small History of Subaltern Studies” em My Habitations of
Modernity: Essays in the Wake of Subaltern Studies (Chicago: University of
Chicago Press, 2002).
10. Ver Sumit Sarkar 's essay by that name in his Writing Social History
(Delhi: Oxford University Press, 1997).
11. Veja a revisão por "Simicus" datada de 10 de dezembro de 2000, e
intitulada "Whither Subalternity?" em http://www.amazon.com/gp/product/
customer-reviews/069104 9092/ref=cm_cr_dp_pt/102-6961987-3021759?
ie=UTF8&n=283155&s=books.
12. E. P. Thompson, Whigs and Hunters: The Origins of the Black Act
(Har- mondsworth: Penguin, 1977), p. 302.
13. Michael Hardt e Antonio Negri, Império (Cambridge, Massachusetts.:
Harvard University Press, 2000), pp. 44–45.
14. Ibidem, pp. 208, 367.
15. Ibidem, pp. 396–401.
16. Para um relato fascinante da luta dos colonialistas franceses com seu
próprio senso de “nostalgia” no século XIX, veja Alice Bullard, Exile to
Paradise: Savagery and Civilization in Paris and the South Pacific (Stanford:
Stanford University Press, 2000).
17. Desde então, o argumento foi retomado e expandido em Sanjay Seth,
“Back to the Future?” Third World Quarterly 23, no. 3 (2002): 565–575;
também publicado em uma versão mais curta em G. Balakrishnan, ed.,
Debating Empire (London and New York: Verso, 2003), pp. 43–51. Saurabh
Dube, “Presence of Europe: An Interview with Dipesh Chakrabarty,” South
Atlantic Quarterly (Outono de 2002): 859–868.
18. Ver, por exemplo, Mark Thurner e Andre ´ s Guerrero, eds., After
Spanish Rule: Postcolonial Predicaments of the Americas (Durham: Duke
University Press, 2003); Vicente L. Rafael, White Love and Other Events in
Filipino History (Durham: Duke University Press, 2000); Frederick Cooper,
Colonialism in Questiontion: Theory, Knowledge, History (Berkeley:
University of California Press, 2005); Achille Mbembe, On the Postcolony
(Berkeley: University of California Press, 2001).
19. Stevens, Paul. “Heterogenizing Imagination: Globalization, The
Merchant of Venice and the Work of Literary Criticism”, New Literary
History 36, no. 3 (2005): p. 425–437.
20. Veja, por exemplo, o próximo livro de Kathleen Davis, Periods of
Sover- eignty (2008).
21. Amy Hollywood, “Gender, Agency, and the Divine in Religious
Historiog-raphy,” Journal of Religion 84 (2004): 514–528.
Agradecimentos
ARJUN APPADURAI, Homi Bhabha, Gautam Bhadra, Carol
Breckenridge, Faisal Devji, Simon During, Leela Gandhi, Anne
Hardgrove, Pradeep Jeganathan, David Lloyd, Lisa Lowe, Uday
Mehta, Meaghan Morris, Ste- phen Muecke, Rajyashree Pandey,
Sheldon Pollock, Sanjay Seth, Ajay Skaria e Kamala Visweswaran
cultivaram este livro fornecendo-me uma comunidade conversacional
afetuosa, crítica e constantemente disponível. Ranajit Guha sempre
esteve lá, um professor, crítico engajado, bem-intencionado e amigo
ao mesmo tempo. Por seu próprio exemplo, Asok Sen demonstrou
como combinar crítica, mente aberta e encorajamento nas doses
certas. Tom Laqueur uma vez leu alguns dos capítulos em rascunho e
me deu críticas caracteristicamente amigáveis e honestas. Ron Inden,
Steve Collins, C. M. Naim, Clinton Seely, Norman Cutler, James
Chandler, Loren Kruger, Miriam Hansen, John Kelly - todos colegas
da Universidade de Chicago - ajudaram respondendo, criticamente ou
de outra forma, a aspectos deste projeto. E Philip Gossett tem sido um
reitor maravilhosamente solidário. Meus mais gratos agradecimentos
vão para todos eles.
Através de correspondência e conversas, amigos em diferentes
partes do mundo muitas vezes me ajudaram a encontrar minhas
próprias perspectivas. Estou perfeitamente ciente do quanto lhes devo
individualmente, mas, por razões de espaço, só posso mencionar
alguns deles pelo nome. Agradeço aos estudiosos em torno dos
periódicos Scrutiny 2 na África do Sul (especialmente Leon de Cock),
Historia y Grafia no México, Public Culture in the United States,
Postcolonial Studies in Australia, the “postcolonial geographies”
group in the United Kingdom, e Shiso in Japan pelo interesse que
tiveram neste trabalho. Um privilégio que tenho desfrutado ao longo
dos anos é o de ser membro do coletivo editorial de Estudos
Subalternos. As páginas a seguir tornarão óbvio o quanto devo aos
meus colegas deste grupo: Shahid Amin, David Arnold, Gautam
Bhadra, Partha Chatterjee, David Hardiman, Shail Mayaram, Gyan
Pandey, M.S.S. Pandian, Gyan Prakash, Susie Tharu, Ajay Skaria e
Gayatri Spivak. Agradeço a todos.
Comecei este projeto enquanto ainda estava ensinando na
Universidade de Melbourne, na Austrália. A Universidade Nacional
Australiana me hospedou várias vezes com bolsas de estudo de curto
prazo na última década. Estou grato às autoridades de ambas as
instituições pelo apoio financeiro e moral que recebi delas. Meus
amigos na Austrália me ajudaram a tornar o país minha segunda casa.
Por sua generosidade intelectual, acadêmica e pessoal, permaneço
profundamente grato a Ien Ang, David Bennett, Purushottom
Bilimoria, John Cash, Charles Coppel, Phillip Darby, Greg Dening,
Rashmi Desai, Michael Dutton, Mark Elvin, Antonia Finnane, John
Fitzgerald, o falecido John Foster, Debjani Ganguly, Mary Gottschalk,
Chris Healy, Barry Hindess, Jeanette Hoorn, Jane Ja-cobs, Robin
Jeffrey, Miriam Lang, Jenny Lee, Ben Maddison, Vera Mackie, Brian
Massumi, Lewis Mayo, Iain McCalman, Gavan McCor- mack,
Jonathan Mee, Donna Merwick, Tony Milner, Tessa Morris- Suzuki,
Klaus Neumann, Mary Quilty, Benjamin Penny, Peter Phipps,
Christopher Pinney (quando em ANU), Kalpana Ram, Anthony Reid,
Craig Reynolds, Michael Roberts, John Rundell, Ken Ruthven,
Renuka Sharmajay, Sriva, Julie Stephens, Helen Wells e Patrick Wol.
Anthony Low tem sido muito mais do que um professor. Seu apoio,
incentivo e bons conselhos sempre vieram em meu auxílio quando eu
mais precisava.
A comunidade acadêmica nos Estados Unidos tem se tornado cada
vez mais minha nos últimos dez anos. É uma tarefa agradável
reconhecer os dons de ideias, críticas e amizade que surgiram em meu
caminho. Por tudo o que eles deram e compartilharam comigo
enquanto eu estava envolvido em pensar sobre este projeto, agradeço
a Lila Abu-Lughod, Pranab e Kalpana Barhan, Tani Barlow, Crystal
Bartolovich, Dilip Basu, Sugata Bose, Alice Bullard, Sara Castro-
Klaren, Dipankar Chakravarti, Choongmoo Choi, James Clifford,
Lawrence Cohen, Rosemary Coombe, Fernando Coronil, Nicholas
Dirks, Saurabh Dube e Ishita Banerjee-Dube, Sandria Freitag, Keya
Ganguly, Dilip Gaonkar, Maitreesh Ghatak, Michael Hardt, Gail
Hershatter, Lynn Hunt, Qadri Ismail, Vinay Lal, Patricia Limerick,
George Lipsitz, Saba Mahmood, Lata Mani, Rob McCarthy, Allan Me-
gill, Tom e Barbara Metcalf, Walter Mignolo, Timell, Alberto
Moreiras, Air Mufti, Mark Poster, Arvjind Rajagal Sumathi, Rama
Naamy, Naoki Sai, Annai, Thomas Stoler, Julia Schinger e Stelastos.
Nicholas Dirks, Peter van der Veer e Gauri Viswanathan leram e
comentaram de forma útil todo o manuscrito. Alan Thomas, Timothy
Brennan e Ken Wissoker há muito tempo expressam interesse e
entusiasmo por este projeto sem, talvez, saber o quanto seu incentivo
significou para mim.
Também é um prazer lembrar a bondade, apreço e apoio intelectual
que tive o privilégio de receber ao longo de muitos anos na minha
própria cidade, Calcutá. Meus agradecimentos vão para Anil Acharya,
Pradyumna Bhattacharya, Gouri Chatterjee, Raghabendra
Chattopadhyay, Ajit Chaudhuri, Subhendu e Keya Das Gupta, Arun e
Manashi Das Gupta, Susanta Ghosh, Dhruba Gupta, Sushil Khanna,
Indranath Majumdar, Bhaskar Mukhopadhayay, Rudrangshu
Mukherjee, Tapan Raychaudhuri, Prodip Sett, amigos associados aos
periódicos Naiya e Kathapat e colegas no Departamento de História
da Universidade de Calcutá e no Centro de Estudos em Ciências
Sociais de Calcutá. Sempre sentirei falta das críticas afetuosas que
Hitesranjan Sanyal e Ranajit Das Gupta provavelmente teriam feito
desse trabalho se ainda estivessem por perto. Agradeço a Barun De
por sua generosidade intelectual, da qual sempre me beneficiei. Uma
visita à Universidade Jawaharlal Nehru em Delhi em 1998 foi
lembrada pelo calor e pelos comentários que recebi de Sabyasachi
Bhatta-charya, Kunal e Shubhra Chakrabarti, Mushirul e Zoya Hasan,
Majid Siddiqi, Muzaffar Alam, Neeladri Bhattacharya e Chitra Joshi,
Prabhu Mohapatra, Dipankar Gupta e Ania Loomba. Espero que eles
encontrem seu interesse contínuo em meu trabalho justificado por
este livro. Meu querido amigo Ahmed Kamal, historiador da
Universidade de Daca, Bangladesh, foi meu professor de história
social dos muçulmanos bengaleses. Sem o seu interesse gentil e crítico
neste trabalho, eu teria sido ainda menos consciente da Hinduness
inescapável da minha imaginação.
Tive a sorte de ensinar alguns alunos muito talentosos na Austrália
e nos Estados Unidos. Curiosos, críticos e intelectualmente
aventureiros, eles me forneceram a melhor tábua de som que se
poderia pedir. Amanda Hamilton, Spencer Leonard e Awadhendra
Sharan ajudaram adicionalmente como assistentes de pesquisa para o
projeto. Meus agradecimentos e bons votos vão para todos eles.
As circunstâncias de uma vida “globalizada” espalharam-se fina e
precariamente por três continentes e algumas fragilidades naturais do
corpo tornaram-me cada vez mais grato aos dons de amizade e afeto
que tive a sorte de receber em minha vida pessoal. Estou, como
sempre, grato aos meus pais, à minha irmã e à sua família por estarem
lá quando... sempre que precisei deles. Kaveri e Arko me deram
carinhosamente uma casa durante minhas visitas à Austrália nos
últimos anos. Este livro, espero, explicará a Arko o que tem sido a
“tagarelice pós-marxista e pós-moderna” pela qual ele muitas vezes
me provocou. Sanjay Seth, Rajyashree Pandey, e Leela Gandhi em
Melbourne, e Kamal e Thun em Daca constituíram por muito tempo
minha família subcontinental maior. Meus amigos Shiloo e Rita
Chattopadhyay, Debi e Tandra Basu, Gautam Bhadra e Narayani
Banerjee - todos em Calcutá - me permitiram fazer afirmações sobre
eles que normalmente se faria apenas com os irmãos. A amizade de
Fiona Nicoll e seu interesse nos estudos aborígenes australianos
enriqueceram minha vida de mais maneiras do que posso dizer. Robin
Jeffrey tem sido intransigente em sua amizade desde o primeiro dia da
minha chegada à Austrália. E este livro teria sido impossível de
escrever sem o amor, amizade e conversas de Anne Hardgrove na vida
cotidiana. Para algumas dessas pessoas, este livro é muito grato e
agradecido dedicado.
Agradeço aos funcionários da Biblioteca Nacional de Calcutá; da
Biblioteca do Escritório da Índia e da Biblioteca Britânica de Londres
(em particular, Graham Shaw); da Biblioteca Baillieu na Universidade
de Melbourne; da Biblioteca Menzies na Universidade Nacional
Australiana; e da Biblioteca Regenstein na Universidade de Chicago
(especialmente James Nye) pela cortesia e ajuda que me estenderam.
Mary Murrell, minha editora na Princeton University Press, tem sido
um modelo de inteligência, paciência e compreensão ao conduzir este
manuscrito à fase de publicação final. Só posso confirmar o que outros
já escreveram em seu louvor. E agradeço muito a Margaret Case, cuja
edição cuidadosa e sensível do manuscrito ajudou a trazer mais foco e
clareza ao texto do que eu poderia ter conseguido sem ajuda.
Vários dos capítulos deste livro são versões revisadas de ensaios
publicados anteriormente. O Capítulo 1 foi publicado originalmente
em uma versão mais longa em Representations, no. 37, Winter 1992.
O capítulo 3 foi publicado em Lisa Lowe e David Lloyd, eds., The
Politics of Culture in the Shadow of Capital (Durham: Duke
University Press, 1997). O Capítulo 4 foi publicado pela primeira vez
como uma breve declaração em Humanities Research, Winter 1997,
and Perspectives 35, no. 8 (novembro de 1997), e posteriormente
revisado para Economic and Political Weekly 33, no. 9 (1998);
Scrutiny 2, 3, no. 1
(1998); e Postcolonial Studies 1, no. 1 (abril de 1998). Uma versão
anterior do capítulo 5 foi publicada em Timothy Mitchell e Lila Abu-
Lughod, eds., Contradictions of Modernity (Minneapolis: University
of Minnesota Press, 1999). O capítulo 7 foi publicado na Public
Culture 11, no. 1 (1999). O Capítulo 8 baseia-se no meu ensaio “The
Difference-Deferral of Colonial Modernity: Public Debates on
Domesticity in British India”, em History Work- shop Journal 36
(1993). Agradeço aos editores de todos esses periódicos e volumes por
me possibilitar publicar esses ensaios agora em sua forma atual neste
livro. Agradecimentos também são devidos a Comunicação e Media
People, Calcutá, pela permissão para reproduzir um esboço de
Debabrata Mukhopadhyay.
Chicago
31 de Julho de 1999
PROVINCIALIZANDO A EUROPA
INTRODUÇÃO
A Ideia de Provincializar a Europa
Europa... desde 1914 tornou-se provincializada, ...
apenas as ciências naturais são capazes de invocar um
eco internacional rápido.
(Hans-Georg Gadamer,
1977)
O Ocidente é um nome para um sujeito que se reúne
no discurso, mas é também um objeto constituído
discursivamente; é, evidentemente, um nome que
sempre se associa com aquelas regiões, comunidades
e povos que aparecem política ou economicamente
superiores a outras regiões, comunidades e povos.
Basicamente, é exatamente como o nome "Japão",...
ele afirma que é capaz de sustentar, se não realmente
transcender, um impulso para transcender todas as
particularizações.
(Naoki Sakai, 1998)
PROVINCIALIZANDO A EUROPA não é um livro sobre a região do
mundo que chamamos de "Europa". Essa Europa, pode-se dizer, já foi
provincializada pela própria história. Os historiadores há muito
reconhecem que a chamada "era europeia" na história moderna
começou a ceder lugar a outras configurações regionais e globais em
meados do século XX.1 A história europeia não é mais vista como
encarnando algo como uma "história humana universal". 2 Nenhum
grande pensador ocidental, por exemplo, compartilhou publicamente
o “historiador hegeliano vulgarizado” de Francis Fukuyama, que viu
na queda do muro de Berlim um fim comum para a história de todos
os seres humanos.3 O contraste com o passado parece nítido quando se
lembra da nota cautelosa, mas calorosa, de aprovação com a qual Kant
detectou na Revolução Francesa uma “disposição moral na raça
humana” ou Hegel viu a imprimaturidade do “espírito do mundo” na
intensidade desse evento.4
Eu sou por treinamento um historiador do Sul da Ásia moderna,
que forma meu arquivo e é meu local de análise. A Europa que
procuro provincializar ou descentro é uma figura imaginária que
permanece profundamente embutida em formas clichês e
taquigrafias em alguns hábitos cotidianos de pensamento que
invariavelmente subtendem tentativas nas ciências sociais para
abordar questões de modernidade política no sul da Ásia. 5 O
fenômeno da "modernidade política"— ou seja, o domínio pelas
instituições modernas do Estado, da burocracia e do empreendimento
capitalista - é impossível de se pensar em qualquer lugar do mundo
sem invocar certas categorias e conceitos, cujas genealogias se
aprofundam nas tradições intelectuais e até mesmo teológicas da
Europa.6 Conceitos como a cidadania, o Estado, a sociedade civil, a
esfera pública, os direitos humanos, a igualdade perante a lei, o
indivíduo, as distinções entre público e privado, a ideia do sujeito, a
democracia, a soberania popular, a justiça social, a racionalidade
científica e assim por diante, todos carregam o fardo do pensamento e
da história europeus. Simplesmente não se pode pensar em
modernidade política sem esses e outros conceitos relacionados que
encontraram uma forma climática no decorrer do Iluminismo
Europeu e do século XIX.
Esses conceitos implicam uma visão universal e secular inevitável -
e, em certo sentido, indispensável - do humano. O colonizador
europeu do século XIX tanto pregou esse humanismo iluminista no
colonizado e, ao mesmo tempo, negou-o na prática. Mas a visão tem
sido poderosa em seus efeitos. Historicamente, forneceu uma forte
base para erigir - tanto na Europa quanto fora - críticas a práticas
socialmente injustas. O pensamento marxista e liberal são legatários
dessa herança intelectual. Esta herança é agora global. As modernas
classes médias educadas bengali - às quais pertenço e fragmentos de
cuja história conto mais adiante no livro - foram caracterizadas por
Tapan Raychaudhuri como o "primeiro grupo social asiático de
qualquer tamanho cujo mundo mental foi transformado por meio de
suas interações com o Ocidente". 7 Uma longa série de ilustres
membros desse grupo social - de Raja Rammohun Roy, às vezes
chamado de "o pai da Índia moderna", a Manabendranath Roy, que
discutiu com Lenin no Comintern - abraçaram calorosamente os
temas do racionalismo, ciência, igualdade e direitos humanos que o
Iluminismo Europeu promulgou.8 As críticas sociais modernas à casta,
a opressão das mulheres, a falta de direitos para as classes
trabalhadoras e subalternas na Índia e assim por diante - e, de fato, a
própria crítica ao colonialismo em si - são impensáveis, exceto como
um legado, parcialmente, de como a Europa do Iluminismo foi
apropriada no subcontinente. A constituição indiana começa
repetindo certos temas universais do Iluminismo celebrados, digamos,
na constituição americana. E é salutar lembrar que os textos da crítica
mais incisiva da instituição de "intocabilidade" na Índia britânica nos
remete a algumas idéias originalmente europeias sobre liberdade e
igualdade humana.9
Eu também escrevo de dentro desta herança. A erudição pós-
colonial está comprometida, quase por definição, em envolver os
universais - como a figura abstrata do humano ou a da Razão - que
foram forjados na Europa do século XVIII e que estão subjacentes às
ciências humanas. Esse engajamento marca, por exemplo, a escrita do
filósofo e historiador tunisiano Hichem Djait, que acusa a Europa
imperialista de "negar sua própria visão do homem". 10 A luta de Fanon
para manter a ideia iluminista do humano - mesmo quando ele sabia
que o imperialismo europeu havia reduzido essa ideia à figura do
homem branco colonial-colonial- agora é parte da herança global de
todos os pensadores pós-coloniais. 11 A luta ocorre porque não há
maneira fácil de dispensar esses universais na condição de
modernidade política. Sem eles, não haveria ciência social que
abordasse questões de justiça social moderna.
Esse envolvimento com o pensamento europeu também é invocado
pelo fato de que hoje a chamada tradição intelectual europeia é a única
viva nos departamentos de ciências sociais da maioria, se não de
todas, as universidades modernas. Eu uso a palavra "vivo" em um
sentido particular. É apenas dentro de algumas tradições muito
particulares de pensamento que tratamos os pensadores fundamentais
que estão há muito mortos e se foram, não apenas como pessoas
pertencentes aos seus próprios tempos, mas também como se fossem
nossos próprios contemporâneos. Nas ciências sociais, esses são
invariavelmente pensadores que se encontram dentro da tradição que
passou a se chamar "europeia" ou "ocidental". Estou ciente de que
uma entidade chamada “a tradição intelectual europeia” que remonta
aos gregos antigos é uma fabricação da história europeia
relativamente recente. Martin Bernal, Samir Amin e outros criticaram
justamente a afirmação dos pensadores europeus de que tal tradição
ininterrupta já existiu ou que poderia até mesmo ser chamada de
"europeia".12 O ponto, no entanto, é que, fabricando ou não, essa é a
genealogia do pensamento na qual as ciências sociais se encontram
inseridas. Diante da tarefa de analisar desenvolvimentos ou práticas
sociais na Índia moderna, poucos ou nenhum cientista social indiano
ou cientistas sociais da Índia discutiriam seriamente com, digamos, o
lógico do século XIII Gangesa ou com o filósofo gramático e
linguístico Bartrihari (dos séculos V ao VI), ou com o esteticista do
século X ou XI Abhinavagupta. Por mais triste que seja, um resultado
do domínio colonial europeu no sul da Ásia é que as tradições
intelectuais, antes ininterruptas e vivas em sânscrito, persa ou árabe,
agora são apenas assuntos de pesquisa histórica para a maioria -
talvez todas - as ciências sociais modernas da região. 13 Eles tratam
essas tradições como verdadeiramente mortas, como história. Embora
as categorias que antes estavam sujeitas a considerações e
investigações teóricas detalhadas agora existam como conceitos
práticos, desprovidos de qualquer linhagem teórica, embutidos nas
práticas cotidianas no sul da Ásia, os cientistas sociais
contemporâneos do sul da Ásia raramente têm o treinamento que lhes
permitiria transformar esses conceitos em recursos para o
pensamento crítico no presente.14 E, no entanto, os pensadores
europeus do passado e suas categorias nunca estão completamente
mortos para nós da mesma maneira. Os cientistas sociais do sul da
Ásia(nistas) discutiriam apaixonadamente com um Marx ou um
Weber sem sentir qualquer necessidade de historicizá-los ou colocá-
los em seus contextos intelectuais europeus. Às vezes - embora isso
seja bastante raro - eles até discutiriam com os antecessores antigos
ou medievais ou primitivos desses teóricos europeus.
No entanto, a própria história da politização da população, ou a
chegada da modernidade política, em países fora das democracias
capitalistas ocidentais do mundo produz uma profunda ironia na
história da política. Essa história nos desafia a repensar dois dons
conceituais da Europa do século IX, conceitos integrantes da ideia de
modernidade. Um é o historicismo - a ideia de que, para entender
qualquer coisa, ela deve ser vista tanto como uma unidade quanto em
seu desenvolvimento histórico - e o outro é a própria ideia do político.
O que historicamente possibilita um projeto como o de “provincializar
a Europa” é a experiência da modernidade política em um país como a
Índia. O pensamento europeu tem uma relação contraditória com tal
instância de modernidade política. É indispensável e inadequado nos
ajudar a pensar nas várias práticas de vida que constituem o político e
o histórico na Índia. Explorando - tanto registros teóricos quanto
factuais - essa indispensabilidade e inadequação simultâneas do
pensamento das ciências sociais é a tarefa que este livro se
estabeleceu.
A POLÍTICA DO HISTORICISMO
Os escritos de filósofos pós-estruturalistas, como Michel Foucault,
sem dúvida deram um impulso às críticas globais ao historicismo. 15
Mas seria errado pensar que as críticas pós-coloniais ao historicismo
(ou ao político) simplesmente derivam de críticas já elaboradas por
pensadores pós-modernos e pós-estruturalistas do Ocidente. De fato,
pensar dessa maneira seria praticar o historicismo, pois tal
pensamento meramente repetiria a estrutura temporal da afirmação,
"primeiro no Ocidente e depois em outro lugar". Ao dizer isso, não
pretendo tirar do recente debate sobre historicismo por críticas que
veem seu declínio no Ocidente como resultado do que Jameson
chamou imaginativamente de "a lógica cultural do capitalismo
tardio".16 O estudioso de estudos culturais Lawrence Grossberg
questionou pontualmente se a própria história não está ameaçada
pelas práticas consumistas do capitalismo contemporâneo. Como você
produz observação e análise históricas, pergunta Grossberg, "quando
todo evento é potencialmente evidência, potencialmente determinante
e, ao mesmo tempo, muda muito rapidamente para permitir o lazer
confortável da crítica acadêmica?" 17 Mas esses argumentos, embora
valiosos, ainda contornam as histórias da modernidade política no
terceiro mundo. De Mandel a Jameson, ninguém vê o "capitalismo
tardio" como um sistema cujo motor de condução pode estar no
terceiro mundo. A palavra “tardio” tem conotações muito diferentes
quando aplicada aos países desenvolvidos e àqueles vistos como ainda
“em desenvolvimento”. “Capitalismo tardio” é propriamente o nome
de um fenômeno que é entendido como pertencente principalmente
ao mundo capitalista desenvolvido, embora seu impacto no resto do
globo nunca seja negado.18
As críticas ocidentais ao historicismo que se baseiam em alguma
caracterização do "capitalismo tardio" ignoram os laços profundos que
unem o historicismo como um modo de pensamento e a formação da
modernidade política nas antigas colônias europeias. O historicismo
possibilitou a dominação europeia do mundo no século XIX. 19
Cruelmente, pode-se dizer que foi uma forma importante que a
ideologia do progresso ou "desenvolvimento" assumiu a partir do
século XIX. O historicismo é o que fez com que a modernidade ou o
capitalismo não parecessem simplesmente globais, mas sim como algo
que se tornou global com o tempo, originando-se em um lugar
(Europa) e depois se espalhando para fora dele. Essa estrutura
“primeiro na Europa, depois em outro lugar” do tempo histórico
global era historicista; diferentes nacionalismos não ocidentais mais
tarde produziriam versões locais da mesma narrativa, substituindo a
“Europa” por algum centro construído localmente. Foi o historicismo
que fez Marx dizer que o "país que está mais desenvolvido
industrialmente só mostra, para os menos desenvolvidos, a imagem de
seu próprio futuro".20 É também o que leva historiadores
proeminentes, como Phyllis Deane, a descrever a chegada das
indústrias na Inglaterra como a primeira revolução industrial.21 O
historicismo postulava, assim, o tempo histórico como uma medida da
distância cultural (pelo menos no desenvolvimento institucional) que
se supunha existir entre o Ocidente e o não Ocidente. 22 Nas colônias,
legitimou a ideia de civilização.23 Na própria Europa, ele possibilitou
histórias completamente internistas da Europa, nas quais a Europa foi
descrita como o local da primeira ocorrência do capitalismo, da
modernidade ou do Iluminismo.24 Esses “eventos”, por sua vez, são
todos explicados principalmente com relação a “eventos” dentro das
multas geográficas da Europa (por mais confusos que sejam seus
limites exatos). Os habitantes das colônias, por outro lado, receberam
um lugar “outro” na estrutura “primeiro na Europa e depois em outro
lugar” do tempo. Esse movimento de historicismo é o que Johannes
Fabian chamou de "a negação da co-avaliação".25
O historicismo - e até mesmo a moderna ideia europeia de história -
veio para os povos não europeus no século XIX como a maneira de
alguém dizer “ainda não” para outra pessoa. 26 Considere os clássicos
ensaios liberais, mas historicistas, de John Stuart Mill, “On Liberty” e
“On Representative Government”, ambos proclamando o autogoverno
como a forma mais alta de governo e, no entanto, argumentando
contra dar aos indianos ou aos africanos autogoverno por motivos que
eram de fato historicistas. De acordo com Mill, indianos ou africanos
ainda não eram civilizados o suficiente para se governar. Algum
tempo histórico de desenvolvimento e civilização (domínio colonial e
educação, para ser preciso) teve que transcorrer antes que eles
pudessem ser considerados preparados para tal tarefa. 27 O argumento
historicista de Mill assim reconciliou indianos, africanos e outras
nações "rudes" a uma sala de espera imaginária da história. Ao fazer
isso, converteu a própria história em uma versão desta sala de espera.
Estávamos todos indo para o mesmo destino, segundo Mill, mas
algumas pessoas deveriam chegar mais cedo do que outras. Era isso
que era a consciência historicista: uma recomendação aos colonizados
para que esperassem. Adquirir uma consciência histórica, adquirir o
espírito público que Mill achava absolutamente necessário para a arte
do autogoverno, era também aprender essa arte de esperar. Essa
espera foi a realização do “ainda não” do historicismo.
Exigências democráticas anticoloniais do século XX por um governo
próprio, ao
contrário, insistia em um “agora” como horizonte temporal de ação.
Desde a época da Primeira Guerra Mundial até os movimentos de
descolonização dos anos cinquenta e sessenta, os nacionalismos
anticoloniais foram atribuidos nessa urgência do “agora”. O
historicismo não desapareceu do mundo, mas seu “ainda não” existe
hoje em tensão com essa insistência global no “agora” que marca
todos os movimentos populares em direção à democracia. Isso tinha
que ser assim, pois em sua busca por uma base de massa, movimentos
nacionalistas anticoloniais introduziram classes e grupos na esfera
política que, pelos padrões do liberalismo europeu do século XIX, só
poderiam parecer tão despreparados para assumir a responsabilidade
política do autogoverno. Estes eram os camponeses, tribais,
trabalhadores industriais semi- ou não qualificados em cidades não
ocidentais, homens e mulheres dos grupos sociais subordinados - em
suma, as classes subalternas do terceiro mundo.
Uma crítica ao historicismo, portanto, vai para o coração da
questão da modernidade política em sociedades não-ocidentais. Como
argumentarei em mais detalhes mais tarde, foi através do recurso a
alguma versão de uma teoria estagiária da história - variando de
esquemas evolucionistas simples a entendimentos sofisticados de
"desenvolvimento desigual"- que o pensamento político e social
europeu abriu espaço para a modernidade política das classes
subalternas. Esta não era, como tal, uma alegação teórica irracional.
Se a "modernidade política" fosse um fenômeno limitado e definível,
não era irracional usar sua definição como uma haste de medição para
o progresso social. Dentro desse pensamento, sempre se poderia dizer
com razão que algumas pessoas eram menos modernas do que outras,
e que as primeiras precisavam de um período de preparação e espera
antes que pudessem ser reconhecidas como participantes plenas na
modernidade política. Mas esse era precisamente o argumento do
colonizador - o "ainda não" ao qual o nacionalista colonizado se
opunha "agora". A consecução da modernidade política no terceiro
mundo só poderia ter lugar através de uma relação contraditória com
o pensamento social e político europeu. É verdade que as elites
nacionalistas frequentemente repetiam para suas próprias classes
subalternas - e ainda o fazem se e quando as estruturas políticas
permitirem - a teoria estagiária da história em que as ideias europeias
de modernidade política se baseavam. No entanto, haviam dois
desenvolvimentos necessários nas lutas nacionalistas que produziriam
pelo menos uma rejeição prática, se não teórica, de quaisquer
distinções historicistas e teatrais entre o pré-moderno ou o não-
moderno e o moderno. Uma delas foi a própria rejeição da elite
nacional da versão “sala de espera” da história quando confrontada
com o uso dos europeus como justificativa para a negação do “governo
próprio” aos colonizados. O outro era o fenômeno do século XX do
camponês como participante pleno na vida política da nação (isto é,
primeiro no movimento nacionalista e depois como cidadão da nação
independente), muito antes que ele ou ela pudesse ser formalmente
educado nos aspectos doutrinários ou conceituais da cidadania.
Um exemplo dramático dessa rejeição nacionalista da história
historicista é a decisão indiana tomada imediatamente após a
obtenção da independência para basear a democracia indiana no
princípio de um voto por pessoa. Isso violou diretamente a receita de
Mill. “O ensino universal”, disse Mill no ensaio “Sobre o Governo
Representativo”, “deve preceder o sulfrágio universal”. 28 Até mesmo o
Comitê de Sulfrágio Indiano de 1931, que tinha vários membros
indianos, manteve uma posição que era uma versão modificada do
argumento de Mill. Os membros do comitê concordaram que, embora
o princípio do voto por pessoa fosse o objetivo ideal para a Índia, a
falta geral de alfabetização no país representava um grande obstáculo
para sua implementação.29 E, no entanto, em menos de duas décadas,
a Índia optou pelo sufrágio adulto universal para uma população que
ainda era predominantemente analfabeta. Ao defender a nova
constituição e a ideia de "soberania popular" perante a Assembléia
Constituinte da nação na véspera da independência formal, Sarvepalli
Radhakrishnan, mais tarde o primeiro vice-presidente da Índia,
argumentou contra a ideia dos indianos como povo ainda não estavam
prontos para se governar. No que lhe dizia respeito, os indianos,
alfabetizados ou analfabetos, eram sempre adequados para o
autogoverno. Ele disse: “Não podemos dizer que a tradição
republicana é estranha ao gênio deste país. Tivemos isso desde o início
de nossa história.”30 O que mais era essa posição senão um gesto
nacional de abolir a sala de espera imaginária na qual os indianos
haviam sido colocados pelo pensamento historicista europeu?
Desnecessário será dizer que o historicismo permanece vivo e forte
hoje em todas as práticas e imaginações desenvolvimentistas do
estado indiano.31 Grande parte da atividade institucional de governar
na Índia baseia-se em uma prática diária de historicismo; há um forte
sentido em que o camponês ainda está sendo educado e desenvolvido
como cidadão. Mas cada vez que há uma mobilização
populista/política do povo nas ruas do país e uma versão da
"democracia de massa" se torna visível na Índia, o tempo historicista é
colocado em suspensão temporária. E uma vez a cada cinco anos - ou
mais frequentemente, como parece ser o caso nos dias de hoje - a
nação produz um desempenho político da democracia eleitoral que
coloca de lado todas as suposições da imaginação histórica do tempo.
No dia da eleição, cada adulto indiano é tratado de forma prática e
teórica como alguém já dotado das habilidades de uma grande escolha
cidadã, com ou sem educação. A história e a natureza da modernidade
política em um país ex-colonia como a Índia, portanto, gera uma
tensão entre os dois aspectos do subalterno ou do camponês como
cidadão. Um é o camponês que tem de ser educado no cidadão e que,
portanto, pertence ao tempo do historicismo; o outro é o camponês
que, apesar da sua falta de educação formal, já é um cidadão. Essa
tensão é semelhante à tensão entre os dois aspectos do nacionalismo
que Homi Bhabha identificou de forma útil como o pedagógico e o
performativo.32 A historiografia nacionalista no modo pedagógico
retrata o mundo do camponês, com sua ênfase no parentesco, deuses e
o chamado sobrenatural, como anacrônico. Mas a “nação” e o político
também são performados nos aspectos carnavalescos da democracia:
em rebeliões, marchas de protesto, eventos esportivos e no princípio
do voto universal. A questão é: como pensamos o político nesses
movimentos quando o camponês ou o subalterno emerge na esfera
moderna da política, em seu próprio direito, como membro do
movimento nacionalista contra o domínio britânico ou como membro
de pleno direito do corpo político, sem ter tido que fazer qualquer
trabalho "preparatório" para se qualificar como o "cidadão burguês"?
Devo esclarecer que, em meu uso, a palavra “camponês” se refere a
mais do que a figura do camponês do sociólogo. Pretendo esse
significado em particular, mas também carrego a palavra com um
significado estendido. O “camponês” atua aqui como uma abreviação
para todas as relações e práticas de vida aparentemente não
modernas, rurais e não secular que constantemente deixam sua marca
nas vidas até mesmo das elites na Índia e em suas instituições de
governo. O camponês representa tudo o que não é burguês (no sentido
europeu) no capitalismo e na modernidade indiana. A próxima seção
detalha essa ideia.
ESTUDOS SUBALTERNOS E A CRÍTICA AO HISTORICISMO
Esse problema de como conceituar o histórico e o político em um
contexto em que o camponês já fazia parte do político foi, de fato, uma
das questões-chave que impulsionaram o projeto historiográfico dos
Estudos Subalternos.33 Minha interpretação estendida da palavra
"camponês" decorre de algumas das declarações fundadoras que
Ranajit Guha fez quando ele e seus colegas tentaram democratizar a
escrita da história indiana, olhando para grupos sociais subordinados
como os criadores de seu próprio destino. Considero significativo, por
exemplo, que os Estudos Subalternos tenham começado sua carreira
registrando um profundo sentimento de desconforto com a própria
ideia do “político” como foi implantado nas tradições recebidas da
historiografia marxista da língua inglesa. Em nenhum lugar isso é
mais visível do que na crítica de Ranajit Guha à categoria “pré-
política” do historiador britânico Eric Hobsbawm em seu livro
Elementary Aspects of Peasant Insugency in Colonial India, de
1983.34
A categoria "pré-político" de Hobsbawm revelou os limites de quão
longe o pensamento marxista historicista poderia ir em resposta ao
desafio colocado ao pensamento político europeu pela entrada do
camponês na esfera moderna da política. Hobsbawm reconheceu o
que era especial para a modernidade política no terceiro mundo. Ele
prontamente admitiu que foi a "aquisição da consciência política"
pelos camponeses que "tornou nosso século o mais revolucionário da
história". No entanto, ele perdeu as implicações dessa observação para
o historicismo que já subjazia sua própria análise. As ações dos
camponeses, organizados - mais frequentemente do que se pensa - ao
longo dos eixos de parentesco, religião e casta, e envolvendo deuses,
espíritos e agentes sobrenaturais como atores ao lado dos humanos,
permaneceram para ele sintomáticas de uma consciência que não
tinha chegado a um acordo com a lógica secular-institucional do
político.35 Ele chamou os camponeses de "pessoas pré-políticas que
ainda não encontraram, ou apenas começaram a encontrar, uma
linguagem específica para se expressar. [O capitalismo] vem até eles
de fora, insidiosamente pela operação de forças econômicas que eles
não entendem.” Na linguagem historicista de Hobsbawm, os
movimentos sociais dos camponeses do século XX permaneceram
"arcaicos".36
O impulso analítico do estudo de Hobsbawm pertence a uma
variedade de historicismo que o marxismo ocidental cultivou desde o
seu início. Os intelectuais marxistas do Ocidente e seus seguidores em
outros lugares desenvolveram um conjunto diversificado de
estratégias sofisticadas que lhes permitem aumentar a evidência de
"incompletude" da transformação capitalista na Europa e em outros
lugares, mantendo a ideia de um movimento histórico geral de um
estágio pré-moderno para o da modernidade. Essas estratégias
incluem, em primeiro lugar, os velhos e agora desacreditados
paradigmas evolucionistas do século XIX - a linguagem das
“sobrevivências” e dos “remanescentes”- encontrados em alguns
momentos na prosa de Marx. Mas há outras estratégias também, e
todas elas são variações sobre o tema do “desenvolvimento desigual” -
ele mesmo derivado, como mostra Neil Smith, do uso de Marx da ideia
de “taxas desiguais de desenvolvimento” em sua Critique of Political
Economy (1859) e do uso posterior do conceito por Lenin e Trotsky. 37
A questão é, se eles falam de "desenvolvimento desigual", ou da
"sincronicidade do não síncrono" de Ernst Bloch, ou da "causalidade
estrutural" althusseriana, todas essas estratégias retêm elementos do
historicismo na direção de seu pensamento (apesar da oposição
explícita de Althusser ao historicismo). Todos eles atribuem pelo
menos uma unidade estrutural subjacente (se não uma totalidade
expressiva) ao processo histórico e ao tempo que torna possível
identificar certos elementos no presente como "anacrônicos". 38 A tese
do "desenvolvimento desigual", como James Chandler observou
perceptivamente em seu recente estudo do Romantismo, anda "de
mãos dadas" com a "grade datada de um tempo vazio homogêneo".39
Ao criticar explicitamente a ideia de consciência camponesa como
"pré-política", Guha estava preparado para sugerir que a natureza da
ação coletiva dos camponeses na Índia moderna era tal que
efetivamente esticava a categoria do "político" muito além dos limites
atribuídos a ele no pensamento político europeu. 40 A esfera política na
qual o camponês e seus mestres participaram era moderna - o que
mais poderia ser o nacionalismo senão um movimento político
moderno para o autogoverno? - e, no entanto, não seguiu a lógica dos
cálculos seculares racionais inerentes à concepção moderna do
político. Esta esfera política camponesa, mas moderna, não era
despojada da agência de deuses, espíritos e outros seres
sobrenaturais.41 Os cientistas sociais podem classificar tais agências
sob a rubrica de "crenças camponesas", mas o camponês-como-
cidadão não participou das suposições ontológicas que as ciências
sociais tomam como certas. A declaração de Guha reconheceu esse
assunto como moderno, no entanto, e, portanto, se recusou a chamar
o comportamento político ou a consciência dos camponeses de "pré-
político". Ele insistiu que, em vez de ser um anacronismo em um
mundo colonial modernizador, o camponês era um verdadeiro
contemporâneo do colonialismo, uma parte fundamental da
modernidade que o governo colonial trouxe para a Índia. A
consciência deles não era uma consciência "atrasada" - uma
mentalidade remanescente do passado, uma consciência perplexa
pelas instituições políticas e econômicas modernas e ainda resistente a
elas. As leituras camponesas das relações de poder que enfrentavam
no mundo, argumentava Guha, não eram de forma alguma irrealistas
ou retrógradas.
Claro, isso não foi tudo dito de uma vez e com qualquer coisa como
a clareza que se pode alcançar com retrospectiva. Há, por exemplo,
passagens em Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial
India em que Guha segue as tendências gerais para a erudição
marxista ou liberal europeia. Às vezes, ele lê relações antidemocráticas
- questões de “dominação e subordinação” diretas que envolvem o
chamado “religioso” ou o sobrenatural - como sobreviventes de uma
era pré-capitalista, como não muito modernos e, portanto, como
indicativos de problemas de transição para o capitalismo. 42 Tais
narrativas também aparecem frequentemente nos primeiros volumes
dos Estudos Subalternos. Mas essas declarações, eu apresento, não
representam adequadamente o potencial radical da crítica de Guha à
categoria "pré-política". Pois, se eles fossem uma estrutura válida para
analisar a modernidade indiana, poderíamos de fato argumentar a
favor de Hobsbawm e sua categoria "pré-política". Pode-se apontar -
de acordo com o pensamento político europeu - que a categoria
"político" era inadequada para analisar o protesto camponês, pois a
esfera política dificilmente se abstraía das esferas da religião e do
parentesco nas relações pré-capitalistas da dominação. As relações
cotidianas de poder que envolvem parentesco, deuses e espíritos que o
camponês exemplificou dramaticamente poderiam então, com justiça,
ser chamadas de "pré-políticas". O mundo persistente do camponês na
Índia poderia ser legitimamente lido como uma marca da
incompletude da transição da Índia para o capitalismo, e o próprio
camponês visto com razão como um "tipo anterior", ativo sem dúvida
no nacionalismo, mas realmente trabalhando sob o aviso histórico
mundial de extinção.
O que eu construo aqui, no entanto, é a tendência oposta do
pensamento que é sinalizada pelo desconforto de Guha com a
categoria "pré-político". A insurgência camponesa na Índia moderna,
Guha escreveu, "foi uma luta política."43 Enfatizei a palavra "político"
nesta citação para destacar uma tensão criativa entre a linhagem
marxista dos Estudos Subalternos e as questões mais desafiadoras
que ela levantou desde o início sobre a natureza do político na
modernidade colonial da Índia. Examinando, por exemplo, mais de
uma centena de casos conhecidos de rebeliões camponesas na Índia
Britânica entre 1783 e 1900, Guha mostrou que as práticas que
invocavam deuses, espíritos e outros seres espectrais e divinos faziam
parte da rede de poder e prestígio dentro da qual tanto o subalterno
quanto a elite operavam no sul da Ásia. Essas presenças não eram
meramente simbólicas de algumas realidades seculares mais
profundas e “mais reais”.44
A modernidade política do sul da Ásia, argumentou Guha, reúne
duas lógicas não-comensuráveis de poder, ambas modernas. Uma é a
lógica dos quadros jurídicos e institucionais quase-liberais que o
governo europeu introduziu no país, que em muitos aspectos eram
desejados pelas classes de elite e subalternas. Não pretendo
subestimar a importância deste desenvolvimento. Trançada com isso,
no entanto, está a lógica de outro conjunto de relações em que tanto as
elites quanto os subalternos também estão envolvidos. São relações
que articulam a hierarquia por meio de práticas de subordinação
direta e explícita dos menos poderosos pelos mais poderosos. A
primeira lógica é secular. Em outras palavras, ela deriva das formas
secularizadas do cristianismo que marcam a modernidade no
Ocidente e mostra uma tendência semelhante de primeiro fazer uma
"religião" a partir de uma mistura de práticas hindus e depois
secularizar formas dessa religião na vida das instituições modernas na
Índia.45 O segundo não tem secularismo necessário sobre isso; é o que
continuamente traz deuses e espíritos para o domínio da política. (Isso
deve ser distinguido do uso secular-calculativo de "religião" que
muitos partidos políticos contemporâneos fazem no subcontingente.)
Ler essas práticas como uma sobrevivência de um modo de produção
anterior nos levaria inexoravelmente a concepções de história como
estágios e elitistas; nos levaria de volta a um quadro historicista.
Dentro desse quadro, a historiografia não tem outra maneira de
responder ao desafio apresentado ao pensamento político e à filosofia
pelo envolvimento dos camponeses nos nacionalismos do século XX e
pelo seu surgimento após a independência como cidadãos de pleno
direito de um estado-nação moderno.
A crítica de Guha à categoria “pré-política”, sugiro, pluraliza
fundamentalmente a história do poder na modernidade global e a
separa de quaisquer narrativas universalistas do capital. A
historiografia subalterna questiona o pressuposto de que o
capitalismo necessariamente leva as relações burguesas de poder a
uma posição de hegemonia. 46 Se a modernidade indiana coloca o
burguês em justaposição com o que parece pré-burguês, se o
sobrenatural não secular existe na proximidade do secular, e se ambos
devem ser encontrados na esfera do político, não é porque o
capitalismo ou a modernidade política na Índia permaneceram
"incompletos". Guha não nega as conexões da Índia colonial com as
forças globais do capitalismo. Seu ponto é que o que parecia
“tradicional” nessa modernidade era “tradicional apenas na medida
em que [suas] raízes podiam ser rastreadas até os tempos pré-
coloniais, mas [eles] não eram de forma alguma arcaicos no sentido de
serem obsoletos”.47 Esta era uma modernidade política que
eventualmente daria origem a uma democracia eleitoral próspera,
mesmo quando "vastas áreas na vida e consciência do povo"
escapavam de qualquer tipo de "hegemonia [burguesa]".48
A pressão dessa observação introduz no projeto de Estudos
Subalternos uma crítica necessária - embora às vezes incipiente -
tanto do historicismo quanto da ideia do político. Meu argumento
para a provincialização da Europa decorre diretamente do meu
envolvimento neste projeto. Uma história da modernidade política na
Índia não poderia ser escrita como uma simples aplicação da análise
do capital e do nacionalismo disponível para o marxismo ocidental.
Não se poderia, à maneira de alguns historiadores nacionalistas,
confrontar a história de um colonialismo regressivo com um relato de
um movimento nacionalista robusto que procura estabelecer uma
visão burguesa em toda a sociedade. 49 Pois, nos termos de Guha, não
havia classe no sul da Ásia comparável à burguesia europeia das
metanarrativas marxistas, uma classe capaz de fabricar uma ideologia
hegemônica que fizesse seus próprios interesses parecerem os
interesses de todos. A “cultura indiana da era colonial”, Guha
argumentou em um ensaio posterior, desafiou o entendimento “como
uma replicação da cultura liberal-burguesa da Grã-Bretanha do século
XIX ou como a mera sobrevivência de uma cultura pré-capitalista
antecedente”.50 Este era realmente o capitalismo, mas sem relações
burguesas que atingem uma posição de hegemonia incontestável; era
um domínio capitalista sem uma cultura burguesa hegemônica - ou,
nos famosos termos de Guha, "domínio sem hegemonia".
Não se pode pensar nesta história plural do poder e fornecer contas
do sujeito político moderno na Índia sem ao mesmo tempo questionar
radicalmente a natureza do tempo histórico. Imaginações de futuros
socialmente justos para os humanos geralmente tomam a ideia de
tempo histórico único, homogêneo e secular como garantida. A
política moderna é muitas vezes justificada como uma história da
soberania humana no contexto de um desdobramento incessante do
tempo histórico unitário. Eu argumento que essa visão não é um
recurso intelectual adequado para pensar sobre as condições para a
modernidade política na Índia colonial e pós-colonial. Precisamos nos
afastar de dois dos pressupostos ontológicos implicados em
concepções seculares da política e do social. A primeira é que o ser
humano existe em um quadro de um único e secular tempo histórico
que envolve outros tipos de tempo. Eu argumento que a tarefa de
conceituar práticas de modernidade social e política no sul da Ásia
muitas vezes exige que façamos a suposição oposta: que o tempo
histórico não é integral, que está fora de conjunto consigo mesmo. A
segunda suposição que atravessa o pensamento político europeu
moderno e as ciências sociais é que o humano é ontologicamente
singular, que deuses e espíritos são, no final, "fatos sociais", que o
social de alguma forma existe antes deles. Tento, por outro lado,
pensar sem a suposição sequer de uma prioridade lógica do social.
Não se conhece empiricamente nenhuma sociedade em que os seres
humanos tenham existido sem que deuses e espíritos os acompanhem.
Embora o Deus do monoteísmo possa ter levado algumas pancadas -
se não realmente "morreu"- na história europeia do século XIX de "o
desencanto do mundo", os deuses e outros agentes que habitam as
práticas da chamada "superstição" nunca morreram em nenhum
lugar. Eu considero deuses e espíritos existencialmente simultâneos
com o humano e penso a partir da suposição de que a questão de ser
humano envolve a questão de estar com deuses e espíritos. 51 Ser
humano significa, como Ramachandra Gandhi coloca, descobrir “a
possibilidade de invocar Deus [ou deuses] sem ter a obrigação de
primeiro estabelecer sua [ou a delu (NT: deuses são retratados como
entidades que transcendem gênero)] realidade”. 52 E essa é uma das
razões pelas quais não reproduzo deliberadamente nenhuma
sociologia da religião em minha análise.
O PLANO DESTE LIVRO
Como já deveria estar claro, a provincialização da Europa não é um
projeto de rejeitar ou descartar o pensamento europeu. Relacionar-se
a um corpo de pensamento ao qual se deve em grande parte a
existência intelectual não pode ser uma questão de exigir o que Leela
Gandhi chamou apropriadamente de "vingança pós-colonial". 53 O
pensamento europeu é ao mesmo tempo indispensável e inadequado
para nos ajudar a pensar nas experiências da modernidade política em
nações não ocidentais, e a provincialização da Europa torna-se a
tarefa de explorar como esse pensamento - que agora é herança de
todos e que afeta a todos nós - pode ser renovado de e para as
margens.
Mas, é claro, as margens são tão plurais e diversas quanto os
centros. A Europa parece diferente quando vista de dentro das
experiências de colonização ou inferiorização em partes específicas do
mundo. Estudiosos pós-coloniais, falando de suas diferentes
geografias do colonialismo, falaram de diferentes Europas. A recente
bolsa de estudos crítica de Latino-americanistas ou afro-caribenistas e
outros apontam para o imperialismo da Espanha e Portugal -
triunfante na época do Renascimento e em declínio como poderes
políticos até o final do Iluminismo. 54 A questão do pós-colonialismo
em si é dada a locais múltiplos e contestados nas obras daqueles que
estudam o Sudeste Asiático, o Leste Asiático, a África e o Pacífico. 55 No
entanto, por mais múltiplos que sejam os loci da Europa e por mais
variados colonialismos, o problema de ir além das histórias
eurocêntricas continua sendo um problema compartilhado através das
fronteiras geográficas. 56
Uma questão-chave no mundo da bolsa pós-colonial será a seguinte.
O problema da modernidade capitalista não pode mais ser visto
simplesmente como um problema sociológico de transição histórica
(como nos famosos “debates de transição” na história europeia), mas
também como um problema de tradução. Houve um tempo - antes
mesmo de a própria bolsa de estudos se tornar globalizada - quando o
processo de tradução de diversas formas, práticas e entendimentos da
vida em categorias teóricas políticas universalistas de origem
profundamente europeia parecia para a maioria dos cientistas sociais
uma proposta não problemática. Entendia-se que aquilo que era
considerado uma categoria analítica (como o capital) transcendia o
fragmento da história europeia em que poderia ter se originado. No
máximo, assumimos que uma tradução reconhecida como “grosseira”
era adequada para a tarefa de compreensão.
A monografia de língua inglesa em estudos de área, por exemplo, foi
uma modalidade clássica desse pressuposto. Uma característica
padrão, mecanicamente reunida e menos lida da monografia em
estudos asiáticos ou de área foi uma seção chamada “glossário”, que
veio no final do livro. Nenhum leitor jamais foi seriamente esperado
para interromper o seu prazer de ler, tendo que virar as páginas com
frequência para consultar o glossário. O glossário reproduzia uma
série de “traduções aproximadas” de termos nativos, muitas vezes
emprestadas dos próprios colonialistas. Essas traduções coloniais
eram grosseiras não apenas em serem aproximadas (e, portanto,
imprecisas), mas também no sentido de se adequarem aos métodos
grosseiros e prontos do domínio colonial. Desafiar esse modelo de
“tradução aproximada” é prestar atenção crítica e implacável ao
próprio processo de tradução.
Meu projeto, portanto, se volta para o horizonte que muitos
estudiosos talentosos que trabalham na política da tradução
apontaram. Eles demonstraram o que a tradução produz a partir de
aparentes "incomensurabilidades", que não é nem uma ausência de
relação entre formas dominantes de conhecimento, nem equivalentes
que medeiam com sucesso entre as diferenças, mas precisamente a
relação parcialmente opaca que chamamos de "diferença". 57 Escrever
narrativas e análises que produzem essa transluência - e não a
transparência - na relação entre
histórias não ocidentais e o pensamento europeu e suas categorias
analíticas é o que proponho e ilustro no que se segue.
Este livro necessariamente se vira - e, se assim posso dizer, procura
tirar proveito de - uma linha de falha central para o pensamento social
europeu moderno. Essa é a divisão entre tradições analíticas e
hermenêuticas nas ciências sociais. A divisão é um pouco artificial,
sem dúvida (para a maioria dos pensadores importantes pertencem a
ambas as tradições ao mesmo tempo), mas eu sublinho isso aqui com
o objetivo de esclarecer minha própria posição. De um modo geral,
pode-se explicar a divisão assim. A ciência social analítica tenta
fundamentalmente "desmistificar" a ideologia para produzir uma
crítica que olhe para uma ordem social mais justa. Tomo Marx como
um exemplo clássico dessa tradição. A tradição hermenêutica, por
outro lado, produz uma compreensão amorosa do detalhe em busca de
uma compreensão da diversidade dos mundos de vida humanos. Ela
produz o que pode ser chamado de "histórias afetivas". 58 A primeira
tradição tende a evacuar o local, assimilando-o a algum abstrato
universal; isso não afeta minha proposição, pelo menos, se isso for
feito em um idioma empírico. A tradição hermenêutica, por outro
lado, encontra o pensamento intimamente ligado aos lugares e às
formas particulares de vida. É inatamente crítico do niilismo daquilo
que é puramente analítico. Heidegger é o meu ícone para esta segunda
tradição.
O livro tenta trazer esses dois importantes representantes do
pensamento europeu, Marx e Heidegger, para algum tipo de conversa
entre si no contexto de dar sentido à modernidade política do sul da
Ásia. Marx é crítico para a empreitada, pois sua categoria "capital" nos
dá uma maneira de pensar sobre a história e a figura secular do
humano em escala global, enquanto também faz da história uma
ferramenta crítica para entender o globo que o capitalismo produz.
Marx nos permite poderosamente enfrentar a tendência sempre
presente no Ocidente de ver a expansão europeia e capitalista como,
em última análise, um caso de altruísmo ocidental. Mas tento mostrar
em um capítulo central sobre Marx (Capítulo 2) que abordar o
problema do historicismo através de Marx realmente nos empurra
para uma posição dupla. Por um lado, reconhecemos a importância
crucial da figura do humano abstrato nas categorias de Marx como
precisamente um legado do pensamento iluminista. Essa figura é
central para a crítica de Marx ao capital. Por outro lado, esse humano
abstrato obstrui questões de pertencimento e diversidade. Procuro
desestabilizar essa figura abstrata do humano universal, trazendo à
minha leitura de Marx algumas percepções heideggerianas sobre o
pertencimento humana e a diferença histórica.
A primeira parte do livro, que compreende os capítulos 1 a 4, está
organizada, por assim dizer, sob o signo de Marx. Eu chamo essa parte
de “Historicismo e a Narração da Modernidade.” Juntos, esses
capítulos apresentam certas reflexões críticas sobre as ideias
historicistas da história e do tempo histórico e sua relação com as
narrativas da modernidade capitalista na Índia colonial. Eles também
tentam explicar minha crítica ao historicismo, insistindo que os
debates históricos sobre a transição para o capitalismo também
devem, se não quiserem replicar estruturas da lógica historicista,
pensar nessa transição como processos “translacionais” (NT:
Translacional é "um fluxo de informação bidirecional"). O Capítulo 1
reproduz, de forma resumida, uma declaração programática sobre a
provincialização da Europa que publiquei em 1992 na revista
Representations.59 Desde então, esta declaração recebeu uma
quantidade substancial de circulação. A Provincializando a Europa se
afasta dessa afirmação em alguns aspectos importantes, mas também
tenta colocar em prática grande parte do programa definido nessa
declaração inicial. Portanto, incluí uma versão da declaração, mas
adicionei um pós-escrito curto para indicar como o presente projeto a
usa como ponto de partida, enquanto se desvia dela de maneiras
significativas. Os outros capítulos (2–4) giram em torno da questão de
como se pode tentar abrir as narrativas marxistas da modernidade
capitalista para questões de diferença histórica. Os Capítulos 3 e 4
tentam isso com exemplos concretos, enquanto o Capítulo 2 (“As Duas
Histórias do Capital”) apresenta o pivô teórico do argumento geral.
A segunda parte do livro - eu o chamo de "Histórias do
Pertencimento"- penso como organizada sob o signo de Heidegger.
Apresenta algumas explorações históricas de certos temas na
modernidade dos bengalis hindus de alta casta alfabetizados. Os
próprios temas poderiam ser considerados “universais” às estruturas
da modernidade política: a ideia de cidadão-sujeito, “imaginação”
como categoria de análise, ideias relativas à sociedade civil,
fraternidades patriarcais, distinções público/privado, razão secular,
tempo histórico e assim por diante. Esses capítulos (5–8) elaboram
detalhadamente a agenda historiográfica apresentada no enunciado
de 1992. Tento demonstrar concretamente como as categorias e
estratégias que aprendemos com o pensamento europeu (incluindo a
estratégia de historicização) são indispensáveis e inadequadas para
representar este caso particular de modernidade não europeia.
Uma palavra está em ordem sobre uma mudança particular de foco
que acontece no livro entre as Partes Um e Dois. A primeira parte se
baseia mais em estudos históricos e etnográficos de camponeses e
tribos, grupos que se poderia chamar de “subalternos” em um sentido
direto ou sociológico. A segunda parte do livro se concentra na
história dos Bengalis educados, um grupo que, no contexto da história
indiana, muitas vezes foi descrito (às vezes imprecisamente) como
"elite". Para os críticos que podem perguntar por que um projeto que
surge inicialmente das histórias das classes subalternas na Índia
britânica deve se voltar para certas histórias das classes médias
educadas para fazer suas observações, eu digo isso. Este livro elabora
algumas das preocupações teóricas que surgiram do meu
envolvimento nos Estudos Subalternos, mas não é uma tentativa de
representar as práticas de vida das classes subalternas. Meu objetivo é
explorar as capacidades e limitações de certas categorias sociais e
políticas europeias na conceituação da modernidade política no
contexto de mundos de vida não europeus. Ao demonstrar isso,
recorro a detalhes históricos de mundos de vida específicos que
conheci com algum grau de intimidade.
Os capítulos da Parte Dois são minhas tentativas de começar a me
afastar do que descrevi anteriormente como o princípio da "tradução
aproximada" e de fornecer genealogias plurais ou conjuntas para
nossas categorias analíticas. Metodologicamente, esses capítulos
constituem nada mais do que um começo. Trazer para a relevância
contemporânea os arquivos existentes de práticas de vida no sul da
Ásia - para produzir de forma autoconsciente e com os métodos do
historiador qualquer coisa como o que Nietzsche chamou de "história
para a vida"— é uma tarefa enorme, muito além da capacidade de um
indivíduo.60 Requer proficiência em vários idiomas ao mesmo tempo, e
os idiomas relevantes variam de acordo com a região do Sul da Ásia
que se está olhando. Mas isso não pode ser feito sem prestar muita
atenção às línguas, práticas e tradições intelectuais presentes no sul da
Ásia, ao mesmo tempo em que exploramos as genealogias dos
conceitos orientadores das ciências humanas modernas. O objetivo
não é rejeitar as categorias das ciências sociais, mas liberar no espaço
ocupado por histórias europeias específicas nelas inseridas outro
pensamento normativo e teórico consagrado em outras práticas de
vida existentes e seus arquivos. Pois é somente assim que podemos
criar horizontes normativos plurais específicos de nossa existência e
relevantes para o exame de nossas vidas e de suas possibilidades.
No processo deste pensamento, eu mudo para o material de classe
média bengali na segunda parte do livro. A fim de fornecer exemplos
históricos aprofundados para minhas proposições, eu precisava olhar
para um grupo de pessoas que foram conscientemente influenciadas
pelos temas universalistas do Iluminismo Europeu: as ideias de
direitos, cidadania, fraternidade, sociedade civil, política,
nacionalismo e assim por diante. A tarefa de lidar cuidadosamente
com os problemas da tradução cultural e linguística inevitável nas
histórias da modernidade política em um contexto não europeu exigiu
que eu conhecesse, em alguma profundidade, uma língua não
europeia diferente do inglês, uma vez que o inglês é a língua que
medeia meu acesso ao pensamento europeu. O bengali, minha língua
materna, por padrão supriu essa necessidade. Por causa dos acidentes
e lacunas da minha própria educação, é apenas em Bengali - e em um
tipo muito particular de Bengali - que eu opero com um senso
cotidiano da profundidade e diversidade histórica que uma língua
contém. Infelizmente, sem outro idioma no mundo (incluindo inglês)
posso fazer isso. Confiei na minha intimidade com o bengali para
evitar as tão temidas acusações acadêmicas de essencialismo,
orientalismo e "monolinguismo". Pois uma das ironias de tentar
conhecer qualquer tipo de linguagem em profundidade é que a
unidade da linguagem é dissipada no processo. Percebe-se o quão
plural uma língua é invariavelmente, e como ela nunca pode ser sua
própria riqueza, exceto como uma formação híbrida de muitas
“outras” línguas (incluindo, no caso do bengali moderno, o inglês).61
Meu uso de material histórico específico neste livro de contextos
bengali de classe média é, portanto, principalmente metodológico.
Não tenho reivindicações excepcionais ou representacionais a fazer
para a Índia, ou para Bengala. Não posso sequer afirmar ter escrito o
tipo de histórias de "classe média bengali" que os estudiosos dos
Estudos Subalternos às vezes são acusados de fazer nos dias de hoje.
As histórias que recontei na Parte Dois do livro referem-se a uma
minoria microscópica de reformadores e escritores hindus,
principalmente homens, que foram pioneiros da modernidade política
e literária (masculina) em Bengala. Esses capítulos não representam a
história das classes médias hindus Bengali hoje, pois a modernidade
que discuto expressou os desejos de apenas uma minoria, mesmo
entre as classes médias. Se esses desejos ainda são encontrados hoje
em nichos obscuros da vida bengali, eles estão vivendo bem além de
sua "data de validade". Falo de dentro do que está cada vez mais - e
talvez inevitavelmente - se tornando uma fatia menor da história da
classe média bengali. Também estou, muito tristemente, ciente da
lacuna histórica entre os Bengalis hindus e o muçulmanos, que este
livro não pode deixar de reproduzir. Por mais de cem anos, os
muçulmanos constituíram para os cronistas hindus o que um
historiador uma vez memoravelmente chamou de "maioria
esquecida".62 Não fui capaz de transcender essa limitação histórica,
pois esse esquecimento do muçulmano estava profundamente
incorporado na educação que recebi na Índia independente. O
nacionalismo anticolonial indiano-bengali normalizou implicitamente
o "hindu". Como muitos outros na minha situação, estou ansioso para
o dia em que a posição padrão nas narrativas da modernidade bengali
não soará exclusivamente, ou mesmo principalmente, hindu.
Concluo o livro tentando vislumbrar novos princípios para pensar a
história e o futuro. Aqui minha dívida com Heidegger é mais explícita.
Eu discuto como pode ser possível manter unidos tanto visões de
mundo secularista-historicista quanto visões de mundo não
secularista e não-historicista, envolvendo seriamente a questão de
diversas maneiras de "ser-no-mundo". Este capítulo procura levar a
um ponto culminante minha tentativa geral no livro de atender a uma
dupla tarefa: reconhecer a necessidade "política" de pensar em termos
de totalidades, enquanto o tempo todo perturbando o pensamento
totalizante, colocando em jogo categorias não totalizantes. Ao basear-
me na ideia de “fragmentalidade” de Heidegger e em sua interpretação
da expressão “ainda não” (na Divisão II do Ser e do Tempo), busco
encontrar um lar para o racionalismo pós-Iluminismo nas histórias de
pertencimento bengali que narro. Provincializando a Europa começa
e termina reconhecendo a indispensabilidade do pensamento político
europeu para representações da modernidade política não europeia e,
no entanto, luta com os problemas de representações que essa
indispensabilidade invariavelmente cria.
UMA NOTA SOBRE O TERMO “HISTORICISMO”
O termo “historicismo” tem uma longa e complexa história. Aplicado
aos escritos de uma gama de estudiosos que são muitas vezes tão
mutuamente opostos e tão diferentes uns dos outros, como Hegel e
Ranke, não é um termo que se presta a definições fáceis e precisas.
Seu uso atual também foi influenciado pelo renascimento recente que
desfrutou através do estilo “novo historicista” de análise pioneiro por
Stephen Greenblatt e outros.63 Particularmente importante é uma
tensão entre a insistência rankeana na atenção à singularidade e à
individualidade de uma identidade ou evento histórico e o
discernimento de tendências históricas gerais que a tradição
hegeliana-marxista apresenta. 64 Essa tensão agora é uma parte
herdada de como entendemos o ofício e a função do historiador
acadêmico. Tendo em mente essa história complicada do termo, tento
explicar abaixo meu próprio uso dele.
Ian Hacking e Maurice Mandelbaum forneceram as seguintes
definições minimalistas para o historicismo:
[historicismo é] a teoria de que os fenômenos sociais e culturais são
historicamente determinados e que cada período da história tem seus
próprios valores que não são diretamente aplicáveis a outras épocas. 65
(Hacking)
historicismo é a crença de que uma compreensão adequada da
natureza de qualquer fenômeno e uma avaliação adequada de seu
valor devem ser obtidas considerando-o em termos do lugar que
ocupou e do papel que desempenhou dentro de um processo de
desenvolvimento.66 (Mandelbaum)
Analisando essas e outras definições, bem como alguns elementos
adicionais destacados por estudiosos que tornaram o estudo do
historicismo sua preocupação especializada, podemos dizer que o
"historicismo" é um modo de pensar com as seguintes características.
Ele nos diz que, para entender a natureza de qualquer coisa neste
mundo, devemos vê-lo como uma entidade historicamente em
desenvolvimento, ou seja, primeiro, como um todo individual e único
- como algum tipo de unidade pelo menos in potentia - e, segundo,
como algo que se desenvolve ao longo do tempo. O historicismo
normalmente pode permitir complexidades e ziguezagues neste
desenvolvimento; ele procura encontrar o geral no particular, e não
implica quaisquer suposições necessárias de teleologia. Mas a ideia de
desenvolvimento e a suposição de que uma certa quantidade de tempo
decorre no próprio processo de desenvolvimento são fundamentais
para essa compreensão.67 Desnecessário será dizer que essa passagem
do tempo que é constitutiva tanto da narrativa quanto do conceito de
desenvolvimento é, nas famosas palavras de Walter Benjamin, o
tempo secular, vazio e homogêneo da história. 68 Ideias, antigas e
novas, sobre descontinuidades, rupturas e mudanças no processo
histórico têm, de tempos em tempos, desafiado o domínio do
historicismo, mas muita história escrita ainda permanece
profundamente historicista. Ou seja, ele ainda toma seu objeto de
investigação para ser internamente unificado, e o vê como algo se
desenvolvendo ao longo do tempo. Isso é particularmente verdadeiro -
para todas as suas diferenças com o historicismo clássico - em
narrativas históricas sem base em visões marxistas ou liberais do
mundo, e é o que está subjacente às descrições/explicações no gênero
“história do” - capitalismo, industrialização, nacionalismo e assim por
diante.
Você também pode gostar
- Dicionário de YorubaDocumento84 páginasDicionário de Yorubaangelojms100% (2)
- 2°-Relatório - Lei de OhmDocumento11 páginas2°-Relatório - Lei de OhmJosé EduardoAinda não há avaliações
- MODOS CULTURAIS PÓS-MODERNOS (Teixeira Coelho)Documento12 páginasMODOS CULTURAIS PÓS-MODERNOS (Teixeira Coelho)Jussara AlmeidaAinda não há avaliações
- Históricos Do Teste Psicológico MIRIAM-2Documento6 páginasHistóricos Do Teste Psicológico MIRIAM-2Milton CameraAinda não há avaliações
- Novas Cartas PortuguesasDocumento10 páginasNovas Cartas PortuguesasIgor Dutra dos Santos0% (1)
- L K M Schwarcz - Complexo de Zé CariocaDocumento25 páginasL K M Schwarcz - Complexo de Zé CariocaMiller de CamposAinda não há avaliações
- O Que É História Cultural - Peter BurkeDocumento7 páginasO Que É História Cultural - Peter Burkegiovanepazuch_990009Ainda não há avaliações
- Espelho de VênusDocumento7 páginasEspelho de Vênustaniacmacedo100% (1)
- Rebeldes PrimitivosDocumento290 páginasRebeldes PrimitivosLetícia SallorenzoAinda não há avaliações
- Antonio Candido - Formação Da Literatura BrasileiraDocumento11 páginasAntonio Candido - Formação Da Literatura BrasileiraAlan MartinsAinda não há avaliações
- Dermatoses PsicogenicasDocumento80 páginasDermatoses PsicogenicasCláudia Da Costa SilvaAinda não há avaliações
- CHAKRABARTY, Dipesh - A Poscolonialidade e o Artifício Da HistóriaDocumento26 páginasCHAKRABARTY, Dipesh - A Poscolonialidade e o Artifício Da HistóriaErahsto Felício100% (1)
- Peter Burke - Culturas Populares e Culturas de EliteDocumento10 páginasPeter Burke - Culturas Populares e Culturas de EliteflaviobolinhaAinda não há avaliações
- Mário Oswald e Carlos - Intérpretes Do Brasil - Silviano SantiagoDocumento13 páginasMário Oswald e Carlos - Intérpretes Do Brasil - Silviano SantiagoPaulo KonzenAinda não há avaliações
- Roger Scruton - Confissões de Um Cético FrancófiloDocumento21 páginasRoger Scruton - Confissões de Um Cético FrancófiloMatheus RegisAinda não há avaliações
- Fichamento Teoria Da Literatura Uma IntroduçãoDocumento4 páginasFichamento Teoria Da Literatura Uma IntroduçãoWilliam TaylorAinda não há avaliações
- Catalogo GrafismosDocumento33 páginasCatalogo Grafismosanaemidiasousarocha100% (2)
- Fora de Contexto - StrathernDocumento33 páginasFora de Contexto - StrathernAmanda Serafim100% (1)
- Linguagem Conhecimento - Cid SeixasDocumento118 páginasLinguagem Conhecimento - Cid SeixastimtimtonesAinda não há avaliações
- A Literatura de Autoria Feminina Na America LatinaDocumento26 páginasA Literatura de Autoria Feminina Na America LatinaCláudio ZarcoAinda não há avaliações
- Identidade nacional e modernidade brasileiraNo EverandIdentidade nacional e modernidade brasileiraNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- HARLAN, David. A História Intelectual e o Retorno Da LiteraturaDocumento48 páginasHARLAN, David. A História Intelectual e o Retorno Da LiteraturaDarcio RundvaltAinda não há avaliações
- Teoria Do Canal Aplicado Na MTC - PortuguêsDocumento756 páginasTeoria Do Canal Aplicado Na MTC - PortuguêsWEROTTYDESAinda não há avaliações
- PENSAMENTO PÓS - COLONIAL ChakrabartDocumento28 páginasPENSAMENTO PÓS - COLONIAL ChakrabartWilliam Evangelista de JesusAinda não há avaliações
- CHAKRABARTY, D. O Pós-Colonial e o Artifício Da HistóriaDocumento28 páginasCHAKRABARTY, D. O Pós-Colonial e o Artifício Da HistóriaSilvio NettoAinda não há avaliações
- Resenha Claudia PanizzoloDocumento9 páginasResenha Claudia PanizzoloPri DrosoAinda não há avaliações
- Marx e Os MarxismosDocumento15 páginasMarx e Os MarxismosJosias MacedoAinda não há avaliações
- Culturas Populares e Cultura de Elite PDFDocumento10 páginasCulturas Populares e Cultura de Elite PDFSara RangelAinda não há avaliações
- Contornos humanos: Primitivos, rústicos e civilizados em Antonio CandidoNo EverandContornos humanos: Primitivos, rústicos e civilizados em Antonio CandidoAinda não há avaliações
- Microsoft Word - Tese de Mestrado - Corpus TextualDocumento363 páginasMicrosoft Word - Tese de Mestrado - Corpus TextualConhecer100% (1)
- Maquiavel Republicano - Newton BignottoDocumento205 páginasMaquiavel Republicano - Newton BignottoMarina Rute PachecoAinda não há avaliações
- STRATHERN, Marilyn. (1986) - Fora de Contexto: As Ficções Persuasivas Da AntropologiaDocumento7 páginasSTRATHERN, Marilyn. (1986) - Fora de Contexto: As Ficções Persuasivas Da AntropologiaRenato AquinoAinda não há avaliações
- Cultura e Pobreza em Lewis - Notas Por Uma Antropologia Urbana Dos Pobres No BrasilDocumento39 páginasCultura e Pobreza em Lewis - Notas Por Uma Antropologia Urbana Dos Pobres No BrasilWilliane PontesAinda não há avaliações
- Écoles Et Courants Littéraires - LEITURA - FR.PTDocumento29 páginasÉcoles Et Courants Littéraires - LEITURA - FR.PTIsaac O JorgeAinda não há avaliações
- Introducao Formacao Da Literatura Brasileira de Antonio CandidoDocumento10 páginasIntroducao Formacao Da Literatura Brasileira de Antonio CandidoKeila AraújoAinda não há avaliações
- Resenha Do Livro Infantil o Saci de Monteiro LobatoDocumento4 páginasResenha Do Livro Infantil o Saci de Monteiro LobatoLeo B.LemosAinda não há avaliações
- O Giro Linguístico e A Ibero América Morse LaCapra e GumbrechtDocumento12 páginasO Giro Linguístico e A Ibero América Morse LaCapra e GumbrechtgabifguedesAinda não há avaliações
- Verbetes - BrenoDocumento6 páginasVerbetes - BrenoBreno GóesAinda não há avaliações
- A Literatura de Autoria FemininaDocumento16 páginasA Literatura de Autoria FemininaClayton Prem AlokAinda não há avaliações
- Peter Burke - A Comunicação Na HistóriaDocumento24 páginasPeter Burke - A Comunicação Na HistóriaLucas SeixasAinda não há avaliações
- Cultura em MovimentoDocumento76 páginasCultura em MovimentoSergio RolembergAinda não há avaliações
- Ficção Brasileira... Tania PelegriniDocumento11 páginasFicção Brasileira... Tania PelegriniJuliana Prestes OliveiraAinda não há avaliações
- Quem Tem Medo de Mary Burns.2011Documento2 páginasQuem Tem Medo de Mary Burns.2011valterlucAinda não há avaliações
- Aula Pode o Subalterno FalarDocumento4 páginasAula Pode o Subalterno FalarNatan AndradeAinda não há avaliações
- Oespetaculodasracas FichamentoDocumento13 páginasOespetaculodasracas Fichamentoidi_leiteAinda não há avaliações
- Alexandre Herculano: O velho lobo intelectual de PortugalNo EverandAlexandre Herculano: O velho lobo intelectual de PortugalAinda não há avaliações
- Utopia e Antropofagia Na Ficção de Darcy Ribeiro PDFDocumento15 páginasUtopia e Antropofagia Na Ficção de Darcy Ribeiro PDFJoshua ParksAinda não há avaliações
- Terry Eagleton - "A Ascensão Do Inglês"Documento4 páginasTerry Eagleton - "A Ascensão Do Inglês"Ronaldo CarvalhoAinda não há avaliações
- Fichamento de Leitura Nova História CulturalDocumento9 páginasFichamento de Leitura Nova História CulturalCarolina WendlingAinda não há avaliações
- Resenha Retratos em Branco e NegroDocumento4 páginasResenha Retratos em Branco e NegroSarah LídiceAinda não há avaliações
- O Modernismo Brasileiro e O Rebanho, de Mario de AndradeDocumento9 páginasO Modernismo Brasileiro e O Rebanho, de Mario de AndradewillianqueirozAinda não há avaliações
- Carlos Eduardo Vieira - Historia Dos IntelectuaisDocumento11 páginasCarlos Eduardo Vieira - Historia Dos IntelectuaisMarcos BealAinda não há avaliações
- Quem Tem Medo de TeoriaDocumento17 páginasQuem Tem Medo de Teoriasusana scramimAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Literatura e IdentitarismoDocumento14 páginasArtigo Sobre Literatura e IdentitarismoGabriel SantanaAinda não há avaliações
- Barreto, José - Pessoa e Fátima - A Propósito Dos Escritos Pessoanos Sobre Catolicismo e Política (2009)Documento35 páginasBarreto, José - Pessoa e Fátima - A Propósito Dos Escritos Pessoanos Sobre Catolicismo e Política (2009)Pedro SoaresAinda não há avaliações
- AHMAD, Aijaz. A Retórica Da AlteridadeDocumento25 páginasAHMAD, Aijaz. A Retórica Da AlteridadeMarco PestanaAinda não há avaliações
- Maria Ana QuaglinoDocumento10 páginasMaria Ana Quaglinomannu846100% (1)
- Trabalho Corrigido FinalDocumento20 páginasTrabalho Corrigido FinalThiago FelixAinda não há avaliações
- Notas Sobre As Ciencias SociaisDocumento14 páginasNotas Sobre As Ciencias SociaisDavid Soares100% (1)
- 2704 10023 1 PBDocumento20 páginas2704 10023 1 PBFabiMar JorgeAinda não há avaliações
- A Invenção Da Biografia e o Individualismo RenascentistaDocumento17 páginasA Invenção Da Biografia e o Individualismo RenascentistaDiego SoarezAinda não há avaliações
- Teo SCDocumento16 páginasTeo SCMarina PereiraAinda não há avaliações
- LivroCap2 - Vozes Interrompidas e Subterrâneas, Vazio, CiladasDocumento45 páginasLivroCap2 - Vozes Interrompidas e Subterrâneas, Vazio, CiladasMariana VellosoAinda não há avaliações
- A Querela Da História Literária, Otto Maria CarpeauxDocumento3 páginasA Querela Da História Literária, Otto Maria Carpeauxjc.zamboniAinda não há avaliações
- Makefile PDFDocumento6 páginasMakefile PDFMatheus Leitzke PintoAinda não há avaliações
- Atividade Portugueses Na AméricaDocumento1 páginaAtividade Portugueses Na AméricaKatrine Antunes PachecoAinda não há avaliações
- Obras e Personalidades FemininasDocumento19 páginasObras e Personalidades FemininasLucas De Godoy BuenoAinda não há avaliações
- Dragões #404Documento80 páginasDragões #404Sergio CatanhoAinda não há avaliações
- Empreendedorismo e Intervenção Social 01Documento58 páginasEmpreendedorismo e Intervenção Social 01Glaucia Castro100% (1)
- 2 - Avaliação InstitucionalDocumento2 páginas2 - Avaliação Institucionalapostilasnorte1Ainda não há avaliações
- Recepção Dos Conceitos AgostinianosDocumento193 páginasRecepção Dos Conceitos AgostinianosWallace Johnson100% (1)
- Aula 7 - ToxicodinâmicaDocumento39 páginasAula 7 - ToxicodinâmicaFernanda MoreiraAinda não há avaliações
- Liceniado em Admistração E Gestão Da Educação Pela Universidade Pedagógica. Mestrando em Avaliação Educacional Pela Universidade Prdagógica de MaputoDocumento15 páginasLiceniado em Admistração E Gestão Da Educação Pela Universidade Pedagógica. Mestrando em Avaliação Educacional Pela Universidade Prdagógica de MaputoAmandio Cunna's CunnaAinda não há avaliações
- Religiões e Modernidades: Cristianismos, Secularização e Novas EspiritualidadesDocumento271 páginasReligiões e Modernidades: Cristianismos, Secularização e Novas EspiritualidadesEditora Pimenta CulturalAinda não há avaliações
- Unidade 1 - AmoniacoDocumento40 páginasUnidade 1 - Amoniacoantónio_ramalho_17Ainda não há avaliações
- BG11 Teste Evol Classif 2011Documento5 páginasBG11 Teste Evol Classif 2011Ana Fonte100% (1)
- Maquerle Santos BarbosaDocumento85 páginasMaquerle Santos BarbosaSubject A5Ainda não há avaliações
- Apostila Do Modulo 3 - Empreendedorismo PDFDocumento27 páginasApostila Do Modulo 3 - Empreendedorismo PDFArthemia SampaioAinda não há avaliações
- Norma 1 Final Pavimentos Determinacao de Deflexoes Utilizando o Curviametro Procedimento PDFDocumento12 páginasNorma 1 Final Pavimentos Determinacao de Deflexoes Utilizando o Curviametro Procedimento PDFCarlos DiasAinda não há avaliações
- Encapsulamento de Resíduos SólidosDocumento9 páginasEncapsulamento de Resíduos Sólidossimoesrosadutra100% (1)
- Portal de Mandalas Tarot Wicca Baralho Das Feiticeiras PDFDocumento6 páginasPortal de Mandalas Tarot Wicca Baralho Das Feiticeiras PDFmicheledanaanAinda não há avaliações
- Relatório Extração Solido LiquidoDocumento15 páginasRelatório Extração Solido LiquidoJessyka NicollyAinda não há avaliações
- Dez Coisas Que Tornam A Oração EficazDocumento3 páginasDez Coisas Que Tornam A Oração EficazFelipe MottaAinda não há avaliações
- Letras ComadevaspDocumento3 páginasLetras ComadevaspduduhnAinda não há avaliações
- OSO Braganca 2023 04 25Documento12 páginasOSO Braganca 2023 04 25Stephanie GodoyAinda não há avaliações
- Plano Estadual FinalDocumento49 páginasPlano Estadual FinalbrendoAinda não há avaliações
- Edital Do Espetáculo Orixás - Nos Seios Da Mãe Raiz - 2.º Edição Ano 2023Documento2 páginasEdital Do Espetáculo Orixás - Nos Seios Da Mãe Raiz - 2.º Edição Ano 2023Taciana MellAinda não há avaliações
- Atividade Objetiva 4 - Antropologia - Identidade e DiversidadeDocumento10 páginasAtividade Objetiva 4 - Antropologia - Identidade e DiversidadeFabiola RodriguesAinda não há avaliações