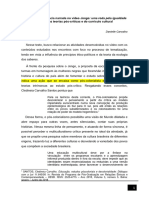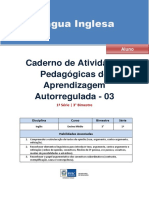Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Anenhart. Geração e Classe Social ...
Anenhart. Geração e Classe Social ...
Enviado por
Mariana HortaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Anenhart. Geração e Classe Social ...
Anenhart. Geração e Classe Social ...
Enviado por
Mariana HortaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Artigos
Deise Arenhart1
Geração e classe social na análise de culturas infantis:
marcas de alteridade e desigualdade
Resumo: Este trabalho se propõe a discutir como as posições estruturais de geração e
classe social se expressam nas culturas infantis de dois grupos diferenciados socialmente:
um de baixa renda e residente em uma favela e outro de classe media alta intelectualiza-
da. Partindo de uma perspectiva etnográfica, a pesquisa de campo foi desenvolvida com
crianças de quatro a seis anos em instituições escolares, tendo elas como principais su-
jeitos da pesquisa. Da análise da empiria, o corpo apareceu como recurso e expressão
das culturas das crianças que vivem na favela e que sofre, na escola, processos densos
de regulação da interação, da brincadeira e da linguagem. Ao contrário, a brincadeira
destacou-se como principal manifestação que dá base para as culturas das crianças na
escola de classe média/alta, contexto em que as interações entre pares e o brincar estão
mais favorecidos. Estes dados são discutidos tomando como referência, além das posi-
ções de geração e classe social, os limites, possibilidades e referentes culturais oferecidos
pelos contextos específicos de inserção das crianças, especialmente, a família e a escola.
Palavras-chave: Creche; Pré-escola; Brincadeira.
Generation and social class in an analyses of childhood
culture: marks of otherness and inequality
Abstract: This paper aims to discuss how the structural positions of generation and social
class are expressed in children’s cultures of two socially different groups: one from a low
income background and living in a slum and other from a intellectualized upper-medium
class income background. Starting from an ethnographic perspective, the field research
was developed in schools with children from four to six years, taking them as the main
subject of the research. Resulting from the empirical analysis, the body appeared as a
resource and expression of the cultures of children living in the slums and suffering, at
school, a dense process of regulating the interaction of play and language. Instead, the
game stood out as main manifestation that gives basis for the cultures of children in scho-
ol middle / upper class, the context in which the interactions among peers and the play
are more favored. In addition to generation positions and social class boundaries, these
data are discussed taking reference the cultural possibilities and respect offered by the
specific contexts of inclusion of children, especially the family and the school.
Keywords: daycare center; kindergarten; game.
1 Professora adjunta da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
ISSNe 1980-4512 | v. 17, n. 32 p. 193-209 | Florianópolis | jul-dez 2015
193
Geração e classe social na análise de culturas infantis: marcas de alteridade e desigualdade
1. Introdução
Este artigo1 é fruto de minha tese de doutorado2 e tem como objetivo apresentar uma espé-
cie de síntese da mesma, dando ênfase às principais questões da pesquisa e buscando, ao longo do
texto, evidenciar os principais achados que as respondem. Sendo assim, o mesmo está estruturado
de forma que, primeiramente, localizo o problema da pesquisa, as principais questões e os caminhos
teórico-metodológicos que a nortearam. Em um segundo momento, destaco e discuto as duas cate-
gorias que se sobressaíram da análise da empiria, as quais estão diretamente relacionadas ao proble-
ma central da tese: o corpo e a brincadeira. Em seguida, com base em algumas evidências empíricas,
reflito acerca da manifestação da reprodução interpretativa e, por fim, situo algumas contribuições
da pesquisa e possíveis desdobramentos para a área da educação e infância.
2. O problema, questões e caminhos da pesquisa
Em minhas incursões nos estudos sobre infância tenho me inquietado com as condições
sociais da infância contemporânea, tanto as que emergem de processos culturais que tendem a em-
purrar a infância precocemente à idade adulta como as de ordem estruturalmente econômicas que
têm acirrado a produção das desigualdades sociais. Essa realidade tem me instigado a estudar como
as crianças reagem a estes condicionantes sociais – reproduzindo-os e inovando-os - e como esse
processo se expressa nas suas culturas.
Assim, em minha tese de doutorado que originou este texto, me propus a investigar culturas
infantis buscando ir além da perspectiva comumente abordada nos estudos socioantropológicos da
infância, quer seja, evidenciar processos de produção cultural na infância para compreender a rela-
tiva autonomia das culturas infantis frente aos adultos e indicar elementos de alteridade geracional
e cultural (SARMENTO, 2004). Tendo esta premissa como um ponto de partida, mas buscando
ir além dela para trazer outras abordagens que pudessem ampliar o estudo e análise do tema, me
propus a realizar uma investigação sobre culturas infantis buscando analisar como condicionantes
estruturais como classe social e geração atuam no sentido de produzir processos de identificação, di-
1 Uma versão desse texto encontra-se publicado nos Anais da 36ª Reunião Anual da Anped, no GT 7 (educação das crianças de 0 a 6
anos). Goiânia, 2013.
2 A tese foi defendida em 2012, contou com a orientação da professora Dr. Lea Pinheiro Paixão e co-orientação do professor Dr. Jader
Janer Lopes. Ver: Arenhart, 2012.
ISSNe 1980-4512 | v. 17, n. 32 p. 193-209 | Florianópolis | jul-dez 2015
194
Deise Arenhart
ferenciação e desigualdade entre as crianças e como estes processos se expressam em suas culturas.
Desse modo, a questão propulsora da pesquisa foi formulada nos seguintes termos: como as
crianças, em diferentes contextos socioculturais, produzem suas culturas e o que estas indicam, si-
multaneamente, sobre seu pertencimento geracional – relacionado às condições comuns postas à in-
fância – e sobre seu pertencimento social – relativo a condições objetivas diferenciadas e desiguais?
A perspectiva, portanto, foi de buscar estudar a alteridade infantil não somente em relação
aos adultos, face, como já me referi, bastante enfatizada no estudo das culturas da infância. Mas,
ao propor uma análise que considerasse juntamente com a categoria geração a condição de classe
social - o que supostamente coloca as crianças em experiências comuns e, ao mesmo tempo, diver-
sas e desiguais - parti do princípio de haver diferenças também no sentido intrageracional, sendo
importante, portanto, analisar os fatores de produção dessas diferenças.
Parti do pressuposto segundo o qual ainda que todas as crianças se situem dentro da cate-
goria geracional infância e isso as coloca em uma série de experiências comuns, somam-se ao per-
tencimento geracional outras variáveis sociais, como classe, etnia, raça, gênero, lugar geográfico etc.
Isso leva à impossibilidade de haver completa homogeneidade nas culturas da infância, visto que
outros condicionantes se somam na produção das condições sociais e nos referentes culturais que as
crianças dispõem para a produção de suas culturas.
Nesta direção, a classe social foi considerada como principal fator de diferenças e desigual-
dades, enquanto que a geração foi vista como propulsora da possível identidade das culturas da
infância e de sua diferença em relação aos adultos.
Assim, a pesquisa foi delimitada pela análise de culturas infantis produzidas por dois grupos
de crianças de quatro a seis anos de idade em instituições de educação infantil e na escola: um grupo
de crianças empobrecidas e moradoras em uma favela do Rio de Janeiro e outro oriundo da classe
média/alta, filhos(as) de pais com expressivo capital cultural.
Considerando, pois, que a mesma se desenvolveu no interior de instituições escolares3 e
partindo do pressuposto que as culturas infantis se expressam, se fazem e se refazem na intersecção
entre a reprodução e a interpretação das crianças (CORSARO, 1997) sobre as referências sociais
3 Não desconsidero o debate da área da educação infantil sobre a impertinência de usar a denominação “escola” para se referir às institu-
ições – creches e pré-escolas – de atendimento à educação da primeira infância. No entanto, nesse texto, estarei fazendo uso da nomenclatura “es-
cola” ou “instituições escolares” pelo fato de que, no contexto da pesquisa em questão, as turmas de educação infantil eram atendidas em espaços
escolares de educação básica, somente um caso é que se referia a creche. Portanto, o termo “escola” aqui pretende expressar uma generalização
dos espaços coletivos e formais de educação, os quais abrangem também a educação infantil.
ISSNe 1980-4512 | v. 17, n. 32 p. 193-209 | Florianópolis | jul-dez 2015
195
Geração e classe social na análise de culturas infantis: marcas de alteridade e desigualdade
de que dispõem e os limites e possibilidades que seus contextos de vida oferecem, outras questões
afluíram e se relacionaram ao problema central da tese, tais como: Como é que práticas educacionais
distintas – familiares e escolares – contribuem para a formação das culturas infantis? De que modo
diferentes processos de normativização da infância (em meio popular, classe média/alta) influen-
ciam as culturas infantis? Quais os limites da interpretação pelas crianças da cultura societal que se
produz e se reproduz no contexto em que estão inseridas? De que modo os contextos sociais em
que se inserem as crianças, especialmente a escola, atuam no sentido de favorecer e/ou limitar a
reprodução interpretativa?
Justifico o fato de ter elegido a categoria classe social (e não etnia, raça, gênero, etc), pri-
meiro, por ser inviável a abordagem de muitas variáveis sociais ao mesmo tempo; segundo, por
entender que essa categoria é central na produção das desigualdades sociais, exacerbadas em paises
do terceiro mundo como o Brasil. A estratificação de classe é o que faz com que grande parcela das
crianças brasileiras tenha suas experiências de infância profundamente marcadas por processos de
vulnerabilidade social. Se todas as crianças possuem em comum o fato de ter seu estatuto marcado
pela vulnerabilidade frente aos adultos, o que socialmente se traduz em processos opressores, de
desrespeito, maus tratos, abusos dos mais variados, etc, as crianças empobrecidas acumulam ainda
mais desvantagens, o que as leva a ser as maiores vítimas da desigualdade social.
Por isso, o recorte da pesquisa e a configuração de seu objeto foram mobilizados, sobretudo,
por um profundo comprometimento político com a infância. Localizada dentro do que Marchi e
Sarmento (s/d) propõem como paradigma crítico para o campo da Sociologia da Infância, a pesqui-
sa buscou contribuir para a “ ‘emancipação’ social da infância” (idem, p. 3).
Essa possibilidade de “emancipação” está presente neste trabalho ao propor-se a: 1) desta-
car as crianças como produtoras culturais, contribuindo para o movimento de construção de um
novo estatuto social para a infância, cujas bases se assentem na consideração das crianças como
sujeitos de direitos e como atores sociais e culturais; 2) desvelar processos de desigualdade social
intencionando contribuir na implementação de ações políticas e pedagógicas que busquem a supera-
ção dos limites e a ampliação das possibilidades de as crianças se exercerem como sujeitos de direitos
e atores sociais.
Para dar conta da problemática da pesquisa, foi importante uma abordagem interdisciplinar
ISSNe 1980-4512 | v. 17, n. 32 p. 193-209 | Florianópolis | jul-dez 2015
196
Deise Arenhart
entre áreas das ciências humanas e sociais, tais como sociologia, antropologia, educação, filosofia,
geografia e história. Dentre estes campos, destacou-se o diálogo entre os campos teóricos da Socio-
logia da Infância e da Sociologia da Educação, por estarem mais diretamente articulados a conceitos
centrais da pesquisa, tais como: culturas infantis / culturas de pares (CORSARO, 1997; FERREI-
RA, 2002; DELALANDE, 2006; SARMENTO, 2004; BORBA, 2005), geração (MANNHEIM,
1993 [1928]; QVORTRUP, 2000; ALANEN, 2009; HONIG, 2009), classes sociais (BOURDIEU,
1964; NOGUEIRA, 1991; SILVA, 2009), diversidade e desigualdade (LAHIRE, 2003; KRA-
MER, 2006), reprodução interpretativa e agência infantil (CORSARO, 1997; PROUT, 2000), pes-
quisa com crianças (CHRISTENSEN e PROUT, 2002; KRAMER, 2002; CORSARO, 2005), etc.
Metodologicamente, o objeto da pesquisa veio a exigir pesquisa de campo de cunho etno-
gráfico. A etnografia, nos moldes como é concebida pela Antropologia, exige grande permanência
do pesquisador no campo de pesquisa, de modo que ele possa aprender sobre as lógicas em que se
fundamentam os modos de vida dos nativos na relação direta com estes e pela descrição densa de
seus cotidianos (GEERTZ, 1989). A partir desse princípio e, principalmente, pela forma como foi
se configurando e demandando a pesquisa nas instituições, o estudo de campo foi realizado durante
três semestres (2009.2 e 2010).
Sendo desenvolvida com crianças entre 4 a 6 anos de idade, no contexto da classe popular, a
pesquisa foi realizada em duas instituições localizadas em uma favela na zona sul do Rio de Janeiro.
Considerando a especificidade do modo e condições de vida da favela, que se identifica, principal-
mente, por fatores ligados à forma de habitação, a baixa posse de capital econômico, aos tipos de
profissões, aos modos de sociabilidade, ao habitus etc, eu identifiquei este grupo da pesquisa como
pertencente ao contexto da favela. Considerando que o outro grupo da pesquisa, de classe média /
alta intelectualizada4 freqüenta uma escola que tem como arquitetura um castelo, tem mais posse
de capital econômico e ainda tem como normatividade para a infância o domínio de experiências
voltadas ao mundo fantasista, denominei esse grupo como pertencente ao contexto do castelo.
Minha permanência nas instituições variou entre um a dois turnos por semana em cada es-
4 Partindo dos conceitos de habitus e de espaço social que compõem a concepção de classe em Bourdieu, esse grupo da pesquisa que
dispõe de maior volume de capital econômico pertence à classe média ou pequena burguesia, na designação de Bourdieu. No entanto, se tomar-
mos em conta o volume de capital cultural e o prestígio social incorporado a algumas profissões de pais de crianças desse grupo (advogados, artistas,
médicos, jornalistas, profissionais liberais em geral) podemos dizer que esse grupo se enquadra numa posição de classe dominante. Isso porque seu
habitus – definido por inclinações para a erudição no que concerne ao apreço às artes, às letras, à ciência – o distingue tanto em relação as classe
populares como em relação a outras frações dentro da classe média. Por isso, fiz uso da nomenclatura de classe média/alta intelectualizada para
designar esse entre-lugar em que situo esse grupo da pesquisa.
ISSNe 1980-4512 | v. 17, n. 32 p. 193-209 | Florianópolis | jul-dez 2015
197
Geração e classe social na análise de culturas infantis: marcas de alteridade e desigualdade
cola, sendo que no contexto da favela as crianças, sujeitos da pesquisa, freqüentaram, neste período,
uma creche e uma escola básica. Assim, neste contexto, trabalhei com o mesmo grupo, porém, duas
instituições. No contexto do castelo, a pesquisa foi desenvolvida na mesma escola (de educação
básica) durante os três semestres.
A participação das crianças como sujeitos da pesquisa veio a ser uma exigência do próprio
objeto da investigação. Portanto, o interesse por elas, a consideração destas como sujeitos produto-
res de cultura e a convicção de que têm muito a revelar sobre os modos de ser criança na contem-
poraneidade já foi um pressuposto teórico sem o qual este estudo não teria existido. Guiada pelos
princípios da participação infantil, da alteridade, da vigilância epistemológica e da simetria ética
(CHRISTENSEN e PROUT, 2002), o processo da pesquisa, especialmente a relação com as crian-
ças e a realidade de cada contexto, foi indicando os caminhos, estratégias e instrumentos da pesqui-
sa. Desse modo, de forma diferenciada em cada contexto, as estratégias e instrumentos utilizados
foram: observação e registro em diário de campo, entrevista e/ou questionário com algum familiar
da criança, “entrevistas” com as crianças, fotografia e troca de fotografias.
3. O corpo e a brincadeira: expressões de uma dupla alteridade
Ao olhar para as manifestações centrais que caracterizavam o reconhecimento de uma cul-
tura de pares, de práticas comuns e coletivas das crianças que as identificavam como grupo de
crianças e as distinguiam dos adultos e da cultura escolar, a pesquisa indicou duas expressões que se
destacaram: o corpo, mais evidente no grupo de crianças residentes na favela, e a brincadeira, mais
presente no grupo de classe média/alta intelectualizada.
Ainda que ambos (o corpo e a brincadeira) estivessem presentes nos dois grupos, o fato de
o corpo se sobressair no grupo de crianças da favela e a brincadeira no grupo de crianças da classe
média alta intelectualizada tem a ver, sobretudo, com a origem social diferenciada das crianças e,
ligada a ela, as normatividades que se derivam de processos de geratividade (Honig, 2009) – ligados
a concepções e práticas com a infância - distintos em cada grupo. Em confluência ou divergência
com as normatividades derivadas de cada classe, a escola também exerce fortemente seus efeitos,
sobre os quais as crianças agem e reagem instituindo suas ordens sociais e suas culturas. Vejamos
como isso se traduziu nos achados da pesquisa.
ISSNe 1980-4512 | v. 17, n. 32 p. 193-209 | Florianópolis | jul-dez 2015
198
Deise Arenhart
3.1 Brincadeira e culturas infantis: a influência dos contextos sociais
A brincadeira, diferentemente do aludido em concepções essencialistas sobre o brincar, apa-
receu como principal manifestação da cultura de pares somente no contexto escolar que oferece
tempo, espaço e autonomia para as crianças gerirem suas relações de pares.
Desse modo, a escola que atende as crianças de classe média alta intelectualizada tem a brin-
cadeira como eixo de sua proposta pedagógica e se alicerça em uma concepção pela qual as crianças
são vistas como capazes de desenvolver-se e aprender nas suas relações entre pares. Além disso, essa
escola está em confluência com a normatividade da família no que diz respeito a permitir a manifes-
tação da infância como um tempo distinto da idade adulta e ligado a experiências determinadas pelo
brincar, pela ludicidade, pelo desenvolvimento das múltiplas linguagens e pela arte.
Assim, tanto as condições externas construídas pela família e pela escola, como as internas,
relativas aos processos engendrados pelas crianças em seus grupos de pares, contribuíram para que a
brincadeira nesse contexto fosse a base da cultura de pares, por meio da qual as crianças construíam
uma série de rotinas, regras e ordens sociais que lhes possibilitava o sentimento de pertença a um
grupo de crianças.
Essas rotinas e ordens sociais puderam ser percebidas em práticas e acordos que lhes permi-
tia brincar coletivamente, por dominarem a cultura lúdica (BROUGÈRE, 2004) do grupo. Destaco
algumas dessas práticas: 1) a importância da existência de uma “dona da brincadeira”5; 2) a criação
de sub-grupos6 para viver a oposição bem x mal que motiva historicamente a cultura lúdica infantil
e 3) a regra acordada pelas crianças para superar os limites objetivos e poder viver as experiências
pelo ação do imaginário. Uma vez que imaginar era uma regra acordada coletivamente, denominei
essa regra como imaginação como recurso consciente.
Nos limites desse texto, não é possível evidenciar como estas práticas culturais desse grupo
se desenvolveram em suas rotinas de pares, contudo, cabe destacar o grande achado da pesquisa
no que se refere à necessidade de reconhecer o quanto a cultura e, no caso, as culturas infantis, são
produzidas pela imbricada relação entre ação e estrutura. Tanto as condições estruturais (recorrên-
5 Foi possível perceber que a dona ou dono da brincadeira tinha o poder de delegar sobre a entrada e saída de componentes, delegar
papéis, organizar as relações e enredos e o critério para ser dono (a) da brincadeira, cujo era bastante respeitado pelo grupo, era a ter inventado,
ter iniciado antes sua construção.
6 Havia um grupo fixo composto por 4 meninas denominado por “Grupo da Estrelinha”, o qual representava o bem e a causa da nature-
za e o “Grupo do Mal”, cujos componentes não eram fixos e se constituía como um grupo recursivo que surgia esporadicamente para poder fazer
oposição ao seu oposto.
ISSNe 1980-4512 | v. 17, n. 32 p. 193-209 | Florianópolis | jul-dez 2015
199
Geração e classe social na análise de culturas infantis: marcas de alteridade e desigualdade
cia de tempo, espaço, pares, autonomia), como a condição de atores sociais que permite com que
as crianças aproveitem as condições externas para criar suas culturas são aspectos imprescindíveis
para a construção de rotinas de brincadeiras e culturas de pares. Além disso, foi possível identificar
claramente processos de reprodução interpretativa, por exemplo, pela apropriação por parte das
crianças de valores relativos ao seu ethos social (como a causa da natureza) e da cultura lúdica (como
a oposição bem x mal) e, ao mesmo tempo, pela criação de modos especificamente genuínos de
brincar com estes elementos (como a criação de sub-grupos de oposição e uma série de regras que
os caracterizam como um patrimônio cultural específico do grupo).
Já no contexto da favela, as crianças não encontravam tempo, espaço, materiais e não lhes
era dada autonomia para gerirem suas brincadeiras. Assim, o faz-de-conta quase não era vivenciado
pelas crianças na escola e não se manifestara como uma cultura do grupo. As crianças viviam o
brincar nos subterfúgios que encontravam na cultura escolar e este era caracterizado por experiên-
cias ligadas a explorações e desafios corporais. Essa diferença é novamente analisada com base nas
condições concretas e nos referentes culturais de que esse grupo dispõe. Nesse particular, tanto a
escola não concebe seu papel relacionado a possibilitar a experiência da infância, como esta também
não é uma expectativa das famílias.
Assim, se num contexto tanto a escola quanto as famílias destinam um aparato simbólico
voltado às experiências fantasistas, do imaginário e faz-de-conta que se vincula à normatividade do
“mundo das crianças”, no outro essa normatividade não se aplica, estando as crianças mais diluídas
no “mundo dos adultos” e brincando com base nas referências mais ligadas a esse universo.
No entanto, ainda que as crianças na favela não tivessem na brincadeira a base de suas cul-
turas de pares porque esta não encontrava possibilidade de ser vivenciada coletivamente por elas,
era o desejo de brincar que as levara a construir uma regra social que denominei como cumplicidade
na transgressão.
A transgressão é o que possibilita as crianças desse grupo viverem a brincadeira muito além
do que a norma escolar permitia. Além de compreender a transgressão frequente das crianças como
sinal da existência de uma alteridade infantil negada e sufocada pela cultura escolar, essa atitude
também aqui é entendida como uma ordem social construída pelo e no grupo de pares, pela qual
se torna mais possível a construção de espaços e experiências alternativas para a expressão de seus
ISSNe 1980-4512 | v. 17, n. 32 p. 193-209 | Florianópolis | jul-dez 2015
200
Deise Arenhart
interesses como crianças.
Mais do que violar individualmente as normas escolares para manifestar desacordos com
estas, fui percebendo que a transgressão parecia ser, para as crianças, uma atitude comum, coletiva,
compartilhada e cultuada em cumplicidade. Tomando como base os conceitos de Corsaro (1997) e
Ferreira (2002) sobre cultura infantil, ordem social e rotinas de ação, identifiquei que a transgressão,
assim, era vivida como ordem social do grupo de pares que se consolidava por uma cultura de cum-
plicidade alicerçada pelas interações sociais rotineiras que as crianças estabeleciam na luta por seus
interesses comuns. Pela cumplicidade na transgressão elas se uniam como grupo social de crianças
e graças a isto a experiência da brincadeira e da infância na escola se tornava mais possível.
A marca geracional percebida na brincadeira se refletira na relação comum percebida nos
dois grupos quanto ao uso do espaço e tempo e pela percepção da brincadeira como manifestação
pela qual as crianças constroem suas identidades de gênero e de ser criança. Evidenciou-se que para
elas, diferente dos adultos, todo espaço se converte em lugar para brincar e o tempo é percebido
pela experiência, essa que pode ser sempre reiterada e renovada. O aspecto coletivo e geracional,
identificado principalmente na manifestação do brincar, é que faz com que a brincadeira seja reco-
nhecida como uma cultura que, mesmo sendo apropriada e construída também pelos adultos, é, por
excelência, um patrimônio cultural das crianças. Na possibilidade ou na impossibilidade as crianças
buscam brincar, ainda que não dos mesmos modos e nem com as mesmas significações.
Portanto, por um lado, é importante reconhecer que as culturas infantis não se produzem
somente no espaço-tempo do brincar, como as crianças da favela mostraram. Por outro, a tradução
das manifestações das crianças na pesquisa indicaram que a brincadeira é o que elas buscam e o que
as mobiliza, no limite ou na possibilidade.
3.2 O corpo: expressão e recurso das culturas infantis
Ao contrário da brincadeira, o corpo se destacou como principal recurso e expressão das
culturas infantis justamente no contexto que prima seu controle e disciplinamento: as escolas da
favela.
Justamente pelo fato das crianças sofrerem processos regulatórios mais densos neste con-
texto (não poder brincar, não poder interagir, falar) é que o corpo se revelou como possibilidade e
ISSNe 1980-4512 | v. 17, n. 32 p. 193-209 | Florianópolis | jul-dez 2015
201
Geração e classe social na análise de culturas infantis: marcas de alteridade e desigualdade
recurso que elas utilizavam, coletivamente, para conseguir travar suas relações de pares e lutar por
interesses comuns. Portanto, pelo corpo, foi possível perceber a expressão das culturas das crian-
ças numa série de práticas, significados e modos de uso que era comum entre elas na luta por seus
interesses na escola.
Assim, novamente aqui foi possível identificar fatores de identidade e diferença entre as
crianças na relação com seus corpos, especialmente na mobilização do corpo como recurso de suas
culturas de pares.
Por um lado, a marca geracional nos remete a reconhecer que todas as crianças, independen-
te do contexto, estabelecem uma relação distinta dos adultos com seus corpos, na medida em que
o corpo, para elas, parece ser potencializado em suas possibilidades de linguagem, expressividade,
explorações lúdicas, interação com o mundo físico e social.
Por outro lado, o fato dele se sobressair como recurso para as crianças da favela estabele-
cerem suas relações e culturas de pares, novamente tem a ver com outros condicionantes sociais
ligados aos contextos específicos de vida das crianças. Nesse sentido, poderíamos facilmente reco-
nhecer que não é por acaso que as crianças de segmentos sociais mais empobrecidos e considerados
marginais sofram processos mais densos de controle e disciplinamento do corpo; assim como tam-
bém não é passivamente que elas reagem a este controle e produção de um corpo que vai à contra-
mão daquilo que, na sua alteridade geracional, buscam viver corporalmente: que é o movimento, a
interação e a brincadeira.
O reconhecimento do corpo como expressão e recurso das culturas da infância, sobretudo
no contexto escolar da favela que prima pelo seu disciplinamento, indicou duas dimensões a serem
simultaneamente consideradas: a primeira diz respeito às dissonâncias existentes entre a forma es-
colar ou o modo escolar de socialização (VINCENT, 1994; THIN, 2006) e o habitus familiar das
crianças, ligados à origem social. A segunda dimensão se refere às dissonâncias entre a cultura esco-
lar, que visa o aluno, e a cultura infantil, que visa à experiência do ser criança no interior da escola.
Essa segunda dimensão, portanto, está diretamente ligada ao pertencimento geracional.
Com relação à primeira dimensão, a pesquisa indicou dissonâncias entre o que denominei
como “corpo solto”, produzido pelo pouco ou quase nenhum contato com outras instâncias sociali-
zadoras que regulam processos pedagógicos de um corpo institucionalizado e o corpo “oprimido”,
ISSNe 1980-4512 | v. 17, n. 32 p. 193-209 | Florianópolis | jul-dez 2015
202
Deise Arenhart
que é o corpo negado de se movimentar, de brincar e interagir. Como reação a essa dissonância, as
crianças viviam o corpo na escola e o construíam como recurso e expressão pela qual se reconhe-
ciam como grupo de pares, indicando também conflitos entre a cultura escolar e a cultura infantil.
Desse modo, foi possível observar que o corpo das crianças era mobilizado por elas para alçarem
quatro possibilidades: 1) o corpo como resistência e transgressão; 2) como linguagem e interação, 3)
como experiência lúdica e, por fim, 4) como fonte de agência e poder.
Na impossibilidade da palavra, da interação e do brinquedo, as crianças foram comunicando,
pela mobilização do corpo, seus desacordos com relação às normativas da escola e seus interesses
como crianças; suas variadas e sofisticadas formas de linguagem motivadas pelo desejo da interação
com seu par (o que denominei como interações marginais) e ainda sua genialidade em fazer uso do
próprio corpo e de seu colega como suporte para brincar, ou seja, o corpo usado como brinquedo.
Assim, no contexto da favela estudado, pude observar que tanto o habitus de classe e fami-
liar produz um corpo mais solto e menos institucionalizado como, paradoxalmente, o efeito institu-
cional sobre a ação dos corpos das crianças produz um corpo resistente, transgressor, comunicativo
e brincante. Sendo um recurso para a agência das crianças, é sobre ele que os processos disciplinares
e punitivos eram realizados. Com efeito, o que para as crianças é possibilidade de interação, de
linguagem, de ludicidade e de expressão de desacordos com a cultura escolar, para os adultos é desa-
cato e confronto ao que se espera delas como alunos. O paradoxo, assim, está posto: do corpo solto
que se quer disciplinado, nasce, pela ação das crianças, o corpo resistente e transgressor; do corpo
contido, nasce o corpo comunicativo e interativo; do corpo oprimido, nasce o corpo brincante.
As crianças de ambos os contextos ainda indicaram que as relações de poder que constroem
por meio do corpo têm como referência a clivagem que fazem entre valores dominantes socialmen-
te, outros ligados ao ethos de seu grupo social com os valores construídos como interessantes ao
grupo de pares.
Assim, a dimensão geracional evidente pelos critérios que aproximam o corpo como poder
nos dois universos são referentes ao tamanho e idade, uma vez que, igualmente, as crianças sofrem
as desvantagens sociais relativas ao seu estatuto menorizado em relação aos adultos. Contudo, va-
lores dominantes em nossa sociedade ligados à masculinidade e feminilidade se confrontam com
valores ligados ao ethos específico de cada grupo social, produzindo também diferenças entre as-
ISSNe 1980-4512 | v. 17, n. 32 p. 193-209 | Florianópolis | jul-dez 2015
203
Geração e classe social na análise de culturas infantis: marcas de alteridade e desigualdade
pectos valorizados por cada grupo no que diz respeito ao ser menino ou menina.
A posse de produtos voltados ao público infantil se mostrou, em ambos os contextos, im-
portante na afirmação do pertencimento geracional e de gênero. Contudo, no contexto da favela
em que domina um ethos de necessidade, a posse desses produtos extrapola essa significação, sendo
critério, também e fundamentalmente, para afirmação de poder no grupo de pares. Contudo, foi
possível observar que, mesmo as crianças reproduzindo os estereótipos aprendidos socialmente
ligados às posições sociais de geração, gênero, de raça/etnia e de classe, é também no interior do
grupo de pares que se produzem uma série de valores específicos que delegam maior ou menor
poder a quem os detêm.
A par dessa idéia cabe também destacar que o corpo das crianças, concebido na ordem gera-
cional moderna pela vulnerabilidade em relação aos adultos, não é visto da mesma forma em ambos
os contextos. Mesmo sendo a vulnerabilidade um atributo biológico inerente a todas as crianças,
a condição social faz com que nem sempre essa característica comum desencadeie a mesma nor-
matividade social. Se no contexto do castelo o reconhecimento da vulnerabilidade lhes garante o
direito à proteção e provisão, no contexto da favela muitas crianças já assumem responsabilidades
com o trabalho e resistem a agressões físicas. Desse modo, elas sofrem os efeitos mais perversos da
vulnerabilidade, por terem que agir como “gente grande”, sendo tratadas como “gente pequena”,
ou seja, tendo seu estatuto desvalorizado frente aos adultos, o que lhes dificulta também o direito à
participação.
Para fechar este tópico, cabe dizer que a realização da referida pesquisa considerando a alte-
ridade geracional conjuntamente com a alteridade produzida pela classe social permite avanços nos
estudos das culturas da infância por indicar que, para além da brincadeira, existem outras formas
de manifestação das culturas infantis que se produzem de acordo com os contextos de inserção das
crianças, sobretudo, da relação destas com os limites, as possibilidades e os referentes culturais que
oferecem estes contextos.
No caso aqui exposto, o corpo como recurso e expressão das culturas da infância nos pa-
rece um indicativo bastante promissor da existência da alteridade cultural da infância, devendo ser
percebido em sua dupla alteridade: 1) no que revela diferenças (biológicas e culturais) entre adultos e
crianças, entre a cultura escolar e a cultura infantil e 2) no que expressa também diferenças e marcas
ISSNe 1980-4512 | v. 17, n. 32 p. 193-209 | Florianópolis | jul-dez 2015
204
Deise Arenhart
de desigualdade entre crianças de diferentes classes sociais.
4. Condições sociais e a reprodução interpretativa
Atenta em perceber os limites da interpretação pelas crianças da cultura societal e, sobretu-
do, a ação dos contextos sociais, especialmente da escola, na reprodução ou interpretação por parte
das crianças, foi possível perceber que a agência das crianças está diretamente influenciada pela for-
ma como os adultos e, no caso, especialmente a escola, concebem e travam suas relações com elas.
No contexto da escola de classe média alta intelectualizada, em que as crianças são concebi-
das como atores culturais e o projeto pedagógico busca contemplar a vivência da infância, as crian-
ças tanto conseguiam firmar seu pertencimento geracional pela construção de culturas de pares,
como e, além disso, lhes permitia influenciar a geração adulta. Em outros termos, o fato de o con-
texto escolar partir do pressuposto de que as crianças realizam a reprodução interpretativa permite
não só a elas mais condições para que elas exerçam a agência e construam suas culturas de crianças,
mas também permite que escola se produza considerando a influência das crianças.
No contexto da favela, a reprodução interpretativa se construíra, principalmente, pela mobi-
lização da agência das crianças na busca por interesses comuns não garantidos pela cultura escolar.
Desse modo, a reprodução interpretativa foi reconhecida na transgressão. Porém, o achado impor-
tante que cabe destacar neste estudo é que, diferente da escola de classe média alta intelectualizada,
a influência que a transgressão exerce sobre os adultos da escola da favela produz efeitos que tendem
a limitar as possibilidades de agência das crianças, manifestos por constantes sanções e punições que
lhes retira, justamente, seus maiores interesses: o direito à brincadeira, ao movimento e à interação.
Portanto, a reprodução interpretativa que as crianças exercem na luta por seus interesses na escola
repercutira negativamente sobre elas, limitando ainda mais a possibilidade de ação e, gerando, algu-
mas vezes, o conformismo.
A par desses dados, penso ser importante avaliar os limites do conceito de reprodução inter-
pretativa se descolado da análise das condições sociais em que se inserem as crianças. Nesse sentido,
me alio à preocupação de Prout (2000) de que a capacidade de agência das crianças não pode ser
pensada como uma manifestação essencialista, inerente às crianças e independente das condições
externas que as condicionam. Na mesma perspectiva defendida por Prout, a pesquisa indicou a ne-
ISSNe 1980-4512 | v. 17, n. 32 p. 193-209 | Florianópolis | jul-dez 2015
205
Geração e classe social na análise de culturas infantis: marcas de alteridade e desigualdade
cessidade de ampliar a perspectiva da simples constatação da reprodução interpretativa das crianças
para considerar a análise dos elementos que a favorecem e/ou a limitam.
5. Para concluir, possíveis contribuições e desdobramentos
Com base na capacidade reflexiva que este trabalho permite, considero que cabe, por fim,
elaborar alguns indicativos que possam ser incorporados em novos estudos e intervenções, princi-
palmente nos campos da Educação e da Sociologia da Infância.
A esse propósito, considero que os estudos situados no campo da Sociologia da Infância têm
muito a ganhar se considerarem, conjuntamente com a categoria geracional (que une todas as crian-
ças) a análise de outras variáveis sociais (classe, gênero, raça/etnia, etc.) que influem na produção
de diferentes modos de conceber e organizar as relações geracionais. Isso não significa, no entanto,
enfraquecer o estudo da perspectiva geracional que define o campo (cf. QVORTRUP, 2010). A
dimensão geracional deve ser sempre o ponto de partida; todas as crianças têm em comum serem
crianças e essa condição é construída socialmente. Contudo, penso que a consideração de outras va-
riáveis ajuda muito para termos melhor compreensão do que configura o que podemos denominar
como geração da infância na contemporaneidade.
Essa perspectiva – que é teórica e metodológica – ajuda, a meu ver, a trazer elementos con-
cretos para a compreensão da infância como uma experiência que é, ao mesmo tempo, una, plural
e desigual. Una, porque a posição geracional as coloca em um serie de experiências comuns; plural,
porque outras variáveis sociais, como etnia, raça, gênero, cultura, lugar geográfico, produzem ex-
periências diferentes entre elas e desigual, porque algumas, mais do que outras, têm condições ob-
jetivas de acessarem seus direitos, esses que são coletivamente desejáveis a todos (LAHIRE, 2003).
Essa condição de desigualdade é existente, principalmente, pela estratificação das classes sociais.
Ao empreender uma análise que considera tanto a ação das crianças frente à estrutura como
a ação desta frente às crianças, este trabalho também indica a importância de avançar uma perspec-
tiva doravante essencialista ainda colocada na compreensão de alguns conceitos que embasam os
estudos sociais da infância, como o de reprodução interpretativa, agência, cultura de pares, brinca-
deira. Por isso, considero que a perspectiva enunciada por Prout (2004) de buscarmos superarmos
as velhas dicotomias que vem construindo o campo sociológico como ação e estrutura, adultos e
ISSNe 1980-4512 | v. 17, n. 32 p. 193-209 | Florianópolis | jul-dez 2015
206
Deise Arenhart
crianças, natureza e cultura, geral e particular, geração e classe/etnia/gênero, se faz muito profícua,
devendo ser perseguida em nossos estudos.
Por fim, cabe dizer que as reflexões que se construíram em torno das duas categorias cen-
trais – corpo e brincadeira – e suas relações com as culturas infantis poderão ter consequências
positivas para a vida das crianças se incorporadas ao debate educacional, especialmente, se levadas
a cabo na formação de professores.
Com relação ao corpo, esse indicativo se justifica por perceber que, em geral, existem con-
cepções hegemônicas que pouco são questionadas e que tendem a construir um consenso de que as
crianças residentes em contextos de marginalidade, como o caso da favela, seriam indisciplinadas,
agressivas e subversivas por natureza. Essa visão estigmatiza as crianças desse segmento social e
encobre a reflexão sobre os fatores sociais produtores do corpo transgressor. Portanto, a reflexão
sobre o corpo na escola deve ser levada a cabo considerando as duas dimensões sociais que a ele es-
tão articuladas: 1) as dissonâncias (ou consonâncias) entre a cultura escolar e a cultura infantil (aqui
identificada pelos interesses e possibilidades que as crianças, entre pares, mobilizam pelo corpo); 2)
as dissonâncias (ou consonâncias) entre o habitus de classe e o modo escolar de socialização.
Ainda que a importância da brincadeira seja um conceito difundido em termos de discurso,
nem por isso é garantida nas nossas escolas. Assim, este trabalho reafirma essa importância, advo-
gando o reconhecimento da brincadeira como espaço privilegiado de autoria e produção cultural
das crianças e como manifestação que permite a experiência da infância no espaço escolar. Para
além da perspectiva desenvolvimentista mais difundida nos cursos de formação de professores que
justifica a brincadeira como propulsora do desenvolvimento infantil, urge incorporar essas outras
duas dimensões, principalmente quando se passa a considerar a importância da escola como espaço
coletivo para a vivência e a produção de culturas da infância na contemporaneidade.
6. Referências
ARENHART, Deise. Entre a favela e o castelo: efeitos de geração e classe em culturas infan-
tis. Tese (doutorado em educação). Faculdade de Educação, UFF, 2012.
AGOSTINHO, Kátia Adair. O espaço da creche: que lugar é este? Florianópolis, 2003. Disser-
tação (mestrado em Educação). Universidade Federal de Santa Catarina.
BORBA, Angela Meyer. Culturas da infância nos espaços-tempos do brincar. Tese (doutorado
ISSNe 1980-4512 | v. 17, n. 32 p. 193-209 | Florianópolis | jul-dez 2015
207
Geração e classe social na análise de culturas infantis: marcas de alteridade e desigualdade
em Educação). Programa de pós-graduação em Educação, UFF, 2005.
BOURDIEU, Pierre. Les héritiers (Os herdeiros). Paris: Ed. de Minuit, 1964.
BROUGÈRE, Gilles. Brinquedos e Companhia. São Paulo: Cortez, 2004.
CHRISTENSEN, P.; PROUT, A. Working with ethical symmetry in social research with chil-
dren. Childhood, v. 9, n. 4, p. 477-497, 2002.
CORSARO, W. A. The sociology of childhood. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 1997.
_____________. Entrada no campo, aceitação e natureza da participação nos estudos etnográfi-
cos com crianças pequenas. Educação e Sociedade. Vol. 26, maio/ago-2005. Campinas: Cedes.
____________ Le concept heuristique de culture infantile. In: Sirota R. (dir.). Éléments pour une
sociologie de l’énfance. Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, p. 1572-1590.
FARIA, A. L. G; DEMARTINI, Z.B.F; PRADO, P.D (orgs). Por uma cultura da infância: me-
todologias de pesquisa com crianças. 2ª ed. Campinas/SP: Autores Associados, 2005.
FERREIRA, Maria Manuela M. A gente aqui o que gosta mais é de brincar com os outros
meninos: as crianças como atores sociais e a (re) organização social do grupo de pares no quoti-
diano de um Jardim de Infância. Porto, 2002. Dissertação (Doutoramento em Ciências da Educa-
ção) – Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade do Porto.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara, 1989. (trad. port.;
ed. original, 1973).
HONIG, Michael-Sebastian. How is the Child constituted in Childhood studies? In: Qvortrup,
J; Corsaro, W and Honig, M. S. The Palgrave Handbook of Childhood Studies. Palgrave Mac-
millan, 2009.
KRAMER, 2002. Autoria e autorização. Questões éticas na pesquisa com crianças. Cadernos de
Pesquisa, nº 116. São Paulo, jul. 2002, p. 41-59.
____________. Direitos da criança e projeto político-pedagógico da educação infantil. In: BA-
ZÍLIO, L. C e KRAMER, S. Infância, educação e direitos humanos. 2 ed. São Paulo: Cortez,
2006.
LAHIRE, Bernard. Crenças coletivas e desigualdades culturais. Educação e Sociedade, Campi-
nas, vol. 24, nº 84, set 2003. p. 983-995.
MARCHI, R. e SARMENTO, M. J Radicalização da infância na segunda modernidade.
Para uma sociologia da infância crítica. Mimeo, s/d.
MANNHEIM, K. Ideologia e utopia: introducción a la sociologia del conocimiento. México:
Fondo de Cultura Econômica, 1993 [1928].
NOGUEIRA, Maria Alice. Trajetórias escolares, estratégias culturais e classes sociais. Notas em
vista da construção do objeto da pesquisa. In: Revista Teoria e Educação, nº 3, 1991.
PROUT, Alan. Reconsiderar a nova Sociologia da Infância: para um estudo multisciplinar das
crianças. Ciclo de conferências em Sociologia da Infância 2003/2004 – IEC. 2004. Tradução:
Helena Antunes. Revisão científica: Manuel Jacinto Sarmento e Natália Fernandes Soares. Braga/
Portugal (digitalizado).
QVORTRUP, J. Generations: an important category in sociological research. In: Congresso Inter-
ISSNe 1980-4512 | v. 17, n. 32 p. 193-209 | Florianópolis | jul-dez 2015
208
Deise Arenhart
nacional dos mundos sociais e culturais da infância. Braga, 2000. Actas... Braga, Uminho, Insti-
tuto de Estudos da Criança, 2000. vol 2, p. 102-113.
_____________. As culturas da infância nas encruzilhadas da segunda modernidade. In: SAR-
MENTO, M. J. e CERISARA, A. B. (orgs.). Crianças e miúdos: perspectivas sócio-pedagógicas da
Infância e Educação. Porto: Asa, 2004.
SILVA, Manuel Carlos. Classes sociais: condição objetiva, identidade e acção colectiva. Ribeirão/Por-
tugal: ed. Húmus, Universidade do Minho, 2009.
THIN, Daniel. Famílias de camadas populares e a escola. Confrontação desigual e modos de so-
cialização. In: Muller, M. L. R e Paixão, L. P (orgs.). Educação, diferenças e desigualdades. Cuiabá:
EdUFMT, 2006.
VINCENT, Guy (dir). Léducation prisionnière de la forme scolaire? Scolarisation et socialization
dans les sociètes industrielles. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 1994.
ISSNe 1980-4512 | v. 17, n. 32 p. 193-209 | Florianópolis | jul-dez 2015
209
Você também pode gostar
- Resenha Quem Tem Medo de Ensinar Na Educação Infantil em Defesa Do Ato de EnsinarDocumento3 páginasResenha Quem Tem Medo de Ensinar Na Educação Infantil em Defesa Do Ato de EnsinarVal Simoes100% (1)
- De crianças a alunos: A transição da educação infantil para o ensino fundamentalNo EverandDe crianças a alunos: A transição da educação infantil para o ensino fundamentalAinda não há avaliações
- Culturas Infantis e Desigualdades SociaisDocumento4 páginasCulturas Infantis e Desigualdades SociaisRosimar LocatelliAinda não há avaliações
- Patricia Prado Crianças Maiores e MenoresDocumento12 páginasPatricia Prado Crianças Maiores e MenoresPRISCILA MARIANO DE CASTROAinda não há avaliações
- Crianças: Educação, Culturas e Cidadania Activa Refletindo em Torno de Uma Proposta de TrabalhoDocumento24 páginasCrianças: Educação, Culturas e Cidadania Activa Refletindo em Torno de Uma Proposta de TrabalhoRaquelElenaRuizAinda não há avaliações
- Estudo Da Infância - Pablo Rodrigo BesDocumento17 páginasEstudo Da Infância - Pablo Rodrigo BesRenata Teixeira Petti AnientoAinda não há avaliações
- Narrativas CriançasDocumento12 páginasNarrativas CriançasBruna SerenaAinda não há avaliações
- FELIPE, Jane. Estudos Culturais, Gênero e Infância...Documento10 páginasFELIPE, Jane. Estudos Culturais, Gênero e Infância...mundobrAinda não há avaliações
- 14086-Texto Do Artigo-52646-1-10-20230201Documento26 páginas14086-Texto Do Artigo-52646-1-10-20230201Caio NascimentoAinda não há avaliações
- Plano de Aula Sobre GêneroDocumento18 páginasPlano de Aula Sobre GêneroMaria Ivoleide Lima DutraAinda não há avaliações
- Aprincipal Motivação em Estudar Essa Temática DeveDocumento17 páginasAprincipal Motivação em Estudar Essa Temática DevemedeirosjustosAinda não há avaliações
- Preconceitos Na Escola - Sentidos e Significados Atribuídos Pelos Adolescentes No Ensino Médio - CORDEIRO e BUENDGENSDocumento10 páginasPreconceitos Na Escola - Sentidos e Significados Atribuídos Pelos Adolescentes No Ensino Médio - CORDEIRO e BUENDGENShalvezAinda não há avaliações
- Sociologia Da Infância No Brasil e Seus Diálogos Com A PDFDocumento8 páginasSociologia Da Infância No Brasil e Seus Diálogos Com A PDFMilka MotaAinda não há avaliações
- Artigo Acta 2017Documento9 páginasArtigo Acta 2017Maria Angelica ZubaranAinda não há avaliações
- Revista Simbiótica Vol. 2, N. 1, Jun., 2015Documento20 páginasRevista Simbiótica Vol. 2, N. 1, Jun., 2015Gaspar DalluneAinda não há avaliações
- As Desigualdades Sociais Na InfânciaDocumento4 páginasAs Desigualdades Sociais Na InfânciaRosimar LocatelliAinda não há avaliações
- Patrícia Prado - Crianças Pequenininhas Produzem CulturaDocumento9 páginasPatrícia Prado - Crianças Pequenininhas Produzem CulturanaedlesteAinda não há avaliações
- Resenha - IaraDocumento6 páginasResenha - IaraIara Sandra Ferraz BritoAinda não há avaliações
- Pedagogia 2018 1 Sociologia Da Infância Uma Área em Construção Amanda MicaelyDocumento14 páginasPedagogia 2018 1 Sociologia Da Infância Uma Área em Construção Amanda MicaelyCarla MacielAinda não há avaliações
- Os Novos Olhares Sobre A InfânciaDocumento8 páginasOs Novos Olhares Sobre A InfânciaDavid Lourenço MamedioAinda não há avaliações
- 43546-Texto Do Artigo-173929-2-10-20210629Documento19 páginas43546-Texto Do Artigo-173929-2-10-20210629Ady NastosAinda não há avaliações
- 97-Texto Do Artigo-289-1-10-20230505Documento29 páginas97-Texto Do Artigo-289-1-10-20230505Fernanda RodriguesAinda não há avaliações
- MAYNART BARBOSA - Pesquisa Com Crianças Na EducaçãoDocumento21 páginasMAYNART BARBOSA - Pesquisa Com Crianças Na EducaçãopauloninAinda não há avaliações
- Mulher No Livro DidáticoDocumento18 páginasMulher No Livro DidáticoRafael Azzi100% (1)
- A Crianças Nas Entrelinhas Do Discurso de Acadêmicos Brasileiros Sobre Professor Da Educação InfantilDocumento17 páginasA Crianças Nas Entrelinhas Do Discurso de Acadêmicos Brasileiros Sobre Professor Da Educação Infantilsaberes13Ainda não há avaliações
- Perez - Povo Criança UFFDocumento14 páginasPerez - Povo Criança UFFSueli OliveiraAinda não há avaliações
- Construção Da Identidade Na Educação Infantil Nas Relações Étnico-RaciaisDocumento13 páginasConstrução Da Identidade Na Educação Infantil Nas Relações Étnico-RaciaisCINTHIA RIBEIRO YAMASHITAAinda não há avaliações
- 63 KRAMER. Autoria e AutorizaçãoDocumento20 páginas63 KRAMER. Autoria e AutorizaçãoKleverton Almirante100% (1)
- SARMENTO Manuel GOUVEIA Maria Cristina SoaresDocumento15 páginasSARMENTO Manuel GOUVEIA Maria Cristina SoaresAna Maria Rosatto ServelhereAinda não há avaliações
- A Crian+Ça Nas Entrelinhas Dos Discursos de Acad+Èmicos Brasileiros Sobre Professor Da Educa+ç+Âo InfantilDocumento16 páginasA Crian+Ça Nas Entrelinhas Dos Discursos de Acad+Èmicos Brasileiros Sobre Professor Da Educa+ç+Âo InfantilCarmen Silvia BalleriniAinda não há avaliações
- Resenha - Dayrell, J. Família e EscolaDocumento4 páginasResenha - Dayrell, J. Família e EscolanicolaudelabanderaAinda não há avaliações
- AMORIM, Roseane Maria De. O Ensino para Educação Das Relacões Étnico-Raciais Um Olhar para o Cotidiano Escolarpdf.Documento14 páginasAMORIM, Roseane Maria De. O Ensino para Educação Das Relacões Étnico-Raciais Um Olhar para o Cotidiano Escolarpdf.Maria Caroline SouzaAinda não há avaliações
- Bebês e Crianças Bem Pequenas em Contextos Coletivos de EducaçãoDocumento12 páginasBebês e Crianças Bem Pequenas em Contextos Coletivos de EducaçãoVanesca PiresAinda não há avaliações
- Acamizo, Trabalho 16Documento17 páginasAcamizo, Trabalho 16Emanuelle AlmeidaAinda não há avaliações
- Artigo - Masculinidades, Feminilidades e Dimensão Brincalhona - Reflexões Sobre Gênero e Docência Na Educação InfantilDocumento21 páginasArtigo - Masculinidades, Feminilidades e Dimensão Brincalhona - Reflexões Sobre Gênero e Docência Na Educação InfantilGustavo RosadasAinda não há avaliações
- O Brincar Como Prática Social Identificado em Um Grupo de Crianças Da Zona RuralDocumento16 páginasO Brincar Como Prática Social Identificado em Um Grupo de Crianças Da Zona RuralNikole CândidaAinda não há avaliações
- Diferencas Culturais InterculturalidadeDocumento16 páginasDiferencas Culturais Interculturalidadegleicivane.araujoAinda não há avaliações
- CorsaroDocumento2 páginasCorsaroValéria Luíza GonçalvesAinda não há avaliações
- Meritocracia e Heranca Cultural Uma AborDocumento23 páginasMeritocracia e Heranca Cultural Uma AborBrenoVilelaAinda não há avaliações
- Cultura Juvenil, Clima Escolar e A Formação de Professores de Sociologia.Documento14 páginasCultura Juvenil, Clima Escolar e A Formação de Professores de Sociologia.THIAGO GOMES DE MELOAinda não há avaliações
- Meninos Na Educação Infantil: o Olhar Das Educadoras Sobre A Diversidade de GêneroDocumento23 páginasMeninos Na Educação Infantil: o Olhar Das Educadoras Sobre A Diversidade de GênerojuliadcoelhoAinda não há avaliações
- James A Prout A Eds 1997 Constructing and ReconstrDocumento5 páginasJames A Prout A Eds 1997 Constructing and Reconstrrachel jonesAinda não há avaliações
- Ebook Infancias Culturas e EducacaoDocumento241 páginasEbook Infancias Culturas e EducacaoPriscila castroAinda não há avaliações
- O Lugar Da Infância Na ContemporaneidadeDocumento10 páginasO Lugar Da Infância Na ContemporaneidadeInês de BarrosAinda não há avaliações
- O Que É A Escola A Partir Do Sentido Construido Por AlunosDocumento11 páginasO Que É A Escola A Partir Do Sentido Construido Por AlunosWildney LeiteAinda não há avaliações
- HierarquiaDocumento17 páginasHierarquiaPedro VazAinda não há avaliações
- Wa0011.Documento33 páginasWa0011.Lainara SantanaAinda não há avaliações
- Pluralidade culturalTEMASTRANSVERSSAISDocumento14 páginasPluralidade culturalTEMASTRANSVERSSAISAndrea BezerraAinda não há avaliações
- Tomás 2015 Cultura Infância e DireitosDocumento16 páginasTomás 2015 Cultura Infância e Direitostete mariaAinda não há avaliações
- Uma Compreensão Da Infância Dos Índios Jenipapo-Kanindé A Partir Deles Mesmos: Um Olhar Fenomenológico, Através de Narrativas e DesenhosDocumento36 páginasUma Compreensão Da Infância Dos Índios Jenipapo-Kanindé A Partir Deles Mesmos: Um Olhar Fenomenológico, Através de Narrativas e DesenhosCarolinne MeloAinda não há avaliações
- Bondioli e MantovaniDocumento18 páginasBondioli e MantovaniFabio Rogerio Silva100% (1)
- O Viver Criativo e A AdolescênciaDocumento18 páginasO Viver Criativo e A AdolescênciaMiguel LessaAinda não há avaliações
- Criança e Adulto - Marcas de Uma RelaçãoDocumento29 páginasCriança e Adulto - Marcas de Uma RelaçãoMarcela NanquimAinda não há avaliações
- Trabalho Ev117 MD1 Sa4 Id7264 08092018114927Documento12 páginasTrabalho Ev117 MD1 Sa4 Id7264 08092018114927Hiaçe Danoni JoseAinda não há avaliações
- DANIELLE CARVALHO - Trabalho Final Prof. Marcos NeiraDocumento7 páginasDANIELLE CARVALHO - Trabalho Final Prof. Marcos NeiraDanielle CarvalhoAinda não há avaliações
- Apresentação Antropologia Da CriançaDocumento29 páginasApresentação Antropologia Da CriançaHerberth MascarenhasAinda não há avaliações
- Atividade 2 - Geovana, Luisa, Pedro e RamonDocumento10 páginasAtividade 2 - Geovana, Luisa, Pedro e RamonLuísa Perotti Benevides AlonsoAinda não há avaliações
- Os Sujeitos Jovens e A EJADocumento34 páginasOs Sujeitos Jovens e A EJAdiogojordao92Ainda não há avaliações
- Raça, Educação Infantil e Justiça - GomesDocumento30 páginasRaça, Educação Infantil e Justiça - GomesAlexia CruzAinda não há avaliações
- NEVES, Lígia A. - Mulheres Que Estão Fazendo A Nova Literatura Brasileira, Perspectivas de Rupturas e ContinuidadesDocumento103 páginasNEVES, Lígia A. - Mulheres Que Estão Fazendo A Nova Literatura Brasileira, Perspectivas de Rupturas e ContinuidadesTelma VenturaAinda não há avaliações
- LIVRO - Mulheres - e - o - Direito - Um - Chamado - À - Real - Visibilidade PDFDocumento303 páginasLIVRO - Mulheres - e - o - Direito - Um - Chamado - À - Real - Visibilidade PDFALEXANDRE FORMIGAAinda não há avaliações
- Eletronica Integrado Ao Medio - Novotec - CompletoDocumento260 páginasEletronica Integrado Ao Medio - Novotec - CompletoDAIANNI GONCALVES EVANGELISTAAinda não há avaliações
- CAMURÇA - Conservadores X Progressistas No Espiritismo BrasileiroDocumento25 páginasCAMURÇA - Conservadores X Progressistas No Espiritismo BrasileirocrisasAinda não há avaliações
- Texto para A ApresentaçãoDocumento33 páginasTexto para A ApresentaçãoLuciana Novais MacielAinda não há avaliações
- A Mulher e o Magistério-Razões Da Supremacia Feminina...Documento20 páginasA Mulher e o Magistério-Razões Da Supremacia Feminina...Felipe Santos AlmeidaAinda não há avaliações
- Forro y TangoDocumento42 páginasForro y TangoMaría Marchiano100% (1)
- Análise Do Discurso PARA BAKHTINDocumento9 páginasAnálise Do Discurso PARA BAKHTINAlice LuzAinda não há avaliações
- Daniela Finco Brincadeiras e Relações de GêneroDocumento13 páginasDaniela Finco Brincadeiras e Relações de Gêneronaedleste100% (1)
- MOIRA, Amara - Personagens Trans Na Literatura Brasileira (Supl. Pern., 154, Dez 2018)Documento2 páginasMOIRA, Amara - Personagens Trans Na Literatura Brasileira (Supl. Pern., 154, Dez 2018)Fernanda GomesAinda não há avaliações
- 1 Aca Glória de Dourados 2024 - Eufrosina LP (8º C)Documento76 páginas1 Aca Glória de Dourados 2024 - Eufrosina LP (8º C)neldaAinda não há avaliações
- CLIQUE AQUI PARA REALIZAR A PROVA CURRICULAR - DIA 02 - 03 - 2023 A 03 - 03 - 2023 - VALOR 6,0 PONTOS - 1 OPORTUNIDADE - Revisão Da TentativaDocumento4 páginasCLIQUE AQUI PARA REALIZAR A PROVA CURRICULAR - DIA 02 - 03 - 2023 A 03 - 03 - 2023 - VALOR 6,0 PONTOS - 1 OPORTUNIDADE - Revisão Da TentativaClayton Coltri da SilvaAinda não há avaliações
- Autorreguladaingles 1 Ano 3 BiDocumento25 páginasAutorreguladaingles 1 Ano 3 BiAna Paula Homobono PintoAinda não há avaliações
- Oe 1a em 4BDocumento24 páginasOe 1a em 4BPortuguês ClaroAinda não há avaliações
- Diálogo MusicalDocumento175 páginasDiálogo MusicalCarolina RochaAinda não há avaliações
- Leitor Africano Queer - AIADocumento724 páginasLeitor Africano Queer - AIAPaula RodriguesAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido - 2º V.A. Grupos 2023 2 (1) KarlaDocumento8 páginasEstudo Dirigido - 2º V.A. Grupos 2023 2 (1) Karlaanjosbruna2017Ainda não há avaliações
- Genero NeutroDocumento234 páginasGenero NeutroJonas CholfeAinda não há avaliações
- OIT - Futuro Do Trabalho Das PCD - 2021Documento48 páginasOIT - Futuro Do Trabalho Das PCD - 2021AndersonAdriana FetterAinda não há avaliações
- Diario Getulio VargasDocumento10 páginasDiario Getulio VargasdeadAinda não há avaliações
- A Importância Da Sociologia Escolar: Esclarecimentos Necessários em Tempo de ObscurantismoDocumento39 páginasA Importância Da Sociologia Escolar: Esclarecimentos Necessários em Tempo de ObscurantismoCristiano BodartAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido 2Documento5 páginasEstudo Dirigido 2Heloísa Helena AlmeidaAinda não há avaliações
- Sequências Didáticas para o Oral e A Escrita - Apresentação de Um ProcedimentoDocumento8 páginasSequências Didáticas para o Oral e A Escrita - Apresentação de Um Procedimentomarialuizaferreira.msAinda não há avaliações
- Artigo - o Ciclo Da Vida Humana.Documento32 páginasArtigo - o Ciclo Da Vida Humana.camila.arquenAinda não há avaliações
- Direitos Humanos - Gêro e Diversidade Na EscolaDocumento111 páginasDireitos Humanos - Gêro e Diversidade Na EscolaRoberta OliveiraAinda não há avaliações
- Texto 7.falcke Et Al. Violencia Fen InteracionalDocumento10 páginasTexto 7.falcke Et Al. Violencia Fen InteracionalMárciaValériaDuarteAinda não há avaliações
- Jeffrey MalkanDocumento31 páginasJeffrey Malkandaniel gouveiaAinda não há avaliações
- American College of Pediatricians - Especiais Gazeta Do PovoDocumento24 páginasAmerican College of Pediatricians - Especiais Gazeta Do PovoSoftware Repense iTecAinda não há avaliações
- Artigo Com A Minha Citação ParaibaDocumento13 páginasArtigo Com A Minha Citação ParaibaAna Karine Holanda BastosAinda não há avaliações
- Sheila Grilo - Analise ConstrastivaDocumento23 páginasSheila Grilo - Analise ConstrastivaAndrey ToperaoAinda não há avaliações