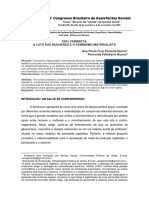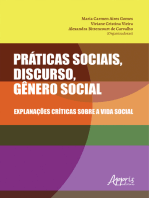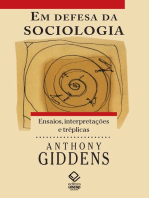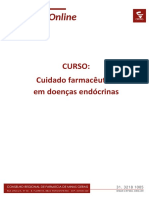Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Feminisms (Dhammon, 2013) - PORTUGUES
Enviado por
Renato SilvaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Feminisms (Dhammon, 2013) - PORTUGUES
Enviado por
Renato SilvaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
Manuais de Oxford on-line
Feminismos
Rita Kaur Dhamoon
The Oxford Handbook of Gender and Politics Editado por
Georgina Waylen, Karen Celis, Johanna Kantola e S. Laurel Weldon
Data de publicação impressa: março de 2013
Assunto: Ciência Política, Teoria Política, Política Comparada Online Data de
publicação: agosto de 2013 DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199751457.013.0003
Resumo e palavras-chave
Embora tenha sido observado que as formas como as feministas historicizam, explicam e definem o feminismo são
desafiadas e sujeitas a interpretação, este artigo centra-se na ideia de que os debates feministas mostram abertura e
pluralidade para maior esclarecimento, investigação e reflexão. Estuda as várias formas de compreender o feminismo, bem
como as suas principais características e métodos de investigação utilizados pelas feministas. O artigo também discute
os debates modernos entre feministas e tenta identificar alguns dos desafios e importantes contribuições das acadêmicas
feministas para o estudo da política.
Palavras-chave: feministas, feminismo, debates feministas, métodos de investigação, estudo da política
Página 1 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso
pessoal (para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
O terreno do feminismo
A forma como as feministas explicam, definem e historicizam o feminismo é em si contestada e
sujeita a interpretação. Em vez de encarar esta contestação como um problema de unidade ou
coerência, este capítulo parte da premissa de que os debates entre feministas demonstram
pluralidade e abertura a mais reflexão, esclarecimento e investigação. Consideraremos brevemente
diferentes formas de compreender o feminismo, as suas características centrais e os métodos de
investigação utilizados pelas feministas. A maior parte do capítulo tratará dos debates
contemporâneos entre feministas como forma de delinear algumas das contestações e contribuições principais
de acadêmicas feministas para o estudo da política.
Embora o termo feminismo tenha aparecido pela primeira vez em França na década de 1880, na Grã-
Bretanha na década de 1890 e nos Estados Unidos em 1910, as ideias em torno da acção política centrada
na mulher existem há muito tempo em todo o mundo, mesmo que o termo não tenha sido utilizado. Diferentes
genealogias históricas e geopolíticas indicam que existem muitas formas de feminismo e não uma única
formação. No Ocidente, estas variações são frequentemente descritas em termos de três ondas de
feminismo. A primeira onda, tipicamente descrita como o período entre 1700 e 1960, é caracterizada pela
expansão da educação e dos direitos civis das mulheres, bem como pela inclusão das mulheres na
política formal e na esfera pública; a segunda vaga, das décadas de 1960 a 1980, é apresentada
como a era da formalização dos direitos de igualdade para as mulheres através da lei e das políticas públicas
e de maior atenção às diferenças entre as mulheres; e a terceira onda, a partir da década de 1990,
é tipicamente representada como diversa, antifundacionalista, pró-sexo, celebrativa da ação cotidiana
sobre a teoria, e amorfa e não regulamentada (Walker 1995; Heywood e Drake 1997). No entanto, a
narrativa das três ondas, que tem tido muito papel nos círculos feministas, tende a sobredeterminar as
diferenças entre gerações de feminismo, mesmo
(pág. 89)quando existem vários contextos e táticas em diferentes
vertentes do feminismo (Snyder 2008). Além disso, a noção de três ondas tem um suposto
pano de fundo europeu ocidental e anglo-americano e baseia-se numa base de fontes estreita,
nomeadamente, textos escritos eurocêntricos, que excluem narrativas orais, círculos de partilha e
textos e epistemologias não ocidentais. Na verdade, como mulher morena de origem Sikh-Punjabi, nascida
no Reino Unido e com uma educação ocidental, as minhas próprias interpretações do feminismo são moldadas
pela mudança de posição entre insider e outsider e pelas limitações da minha formação eurocêntrica. Um
capítulo sobre feminismo escrito a partir de outros pontos de vista refletiria interpretações divergentes.
O trabalho do feminismo também pode ser entendido de outras maneiras. O feminismo é simultaneamente
(1) um paradigma de pesquisa que examina a forma e o caráter da vida de gênero (ontologia),
investiga o que pode ser conhecido (epistemologia) e desenvolve e implementa ferramentas de análise
centradas no gênero (métodos); (2) uma ideologia que contém um sistema de crenças e valores gerais que
explica como e porque ocorre a opressão de género, e que prescreve uma visão da sociedade e do governo
baseada na libertação e na mudança dos papéis de género, através da qual as formas de acção e os
princípios orientadores são contestado; e (3) um conjunto de
Página 2 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
movimentos sociais que procuram abordar relações desiguais de poder, que em alguns casos incluíram homens.
Embora o feminismo seja variado, pelo menos desde a década de 1960, tem sido caracterizado por uma série de
aspectos-chave que aparecem regularmente nos debates feministas contemporâneos discutidos abaixo.
Primeiro, central para todas as marcas de feminismo é o impulso pela justiça social. Dito de outra forma, o
feminismo é uma forma de crítica social (Dhamoon 2009). Em segundo lugar, as feministas centram o
poder, tanto como um dispositivo organizador que reprime e produz relações de género, como como um local de transformação.
Terceiro, sexo e género são categorias centrais de análise, e a relação e a substância destas categorias são
contestadas (Butler 1999; Firestone 1997). Em quarto lugar, o feminismo identificou e debateu a divisão cultura-
natureza, especificamente para examinar se os sujeitos têm afinidades naturais com papéis e desejos sexuais
específicos ou para desvendar significados socialmente construídos relacionados com o género (Arneil 1999).
Quinto, as análises feministas da divisão público-privada iluminaram a estrutura patriarcal que gera e atribui
os papéis tradicionais de género e, ao fazê-lo, expandiram uma compreensão do político para além do foco
tradicional no estado e no governo e centraram a ideia de que “o pessoal é político” (Millet 1970; Hankivsky 2004). Sexto,
embora o feminismo tenha um âmbito variado, distingue-se de muitas outras abordagens na medida em que liga a
teoria e a prática e, ao fazê-lo, realça o significado das narrativas pessoais, da experiência vivida, da
subjetividade e da práxis política (hooks 2000). Finalmente, o feminismo é caracterizado por interesses distintos e
variados, de tal forma que as feministas não partilham uma concepção universal do mundo social ou
um projecto universal; Na verdade, é precisamente a possibilidade de teorizar e praticar o feminismo de
diversas formas que lhe confere apelo global.
(pág. 90) A investigação feminista envolve uma ampla gama de métodos que se baseiam e expandem
ferramentas das ciências sociais para análise quantitativa e qualitativa (Hawkesworth 2006; ver também capítulo 5).
Isto inclui vários métodos positivistas que se baseiam no estudo de variáveis estáticas, categóricas e isentas de
erros, tais como inquéritos, modelos de regressão e análise de dados estatísticos de grupos
específicos de mulheres em legislaturas. Os métodos feministas também se baseiam e desenvolvem o
interpretativismo e a teoria crítica, segundo os quais as realidades e o conhecimento são tratados como
complexos, fluidos, subjetivos, discursivos, socialmente construídos, produtos e produtores de poder, e
sujeitos à ação individual e social.
As ferramentas da teoria interpretativista e crítica incluem teoria do ponto de vista, análise de entrevistas, estudos
etnográficos e autoetnografia, estudos de experiência vivida, análise de discurso, uma abordagem de
determinantes sociais, estudos baseados em narrativas, ação participativa e pesquisa baseada na comunidade.
Alguns métodos feministas de análise – especialmente o uso de tradições orais, narrativas, narrativas, biografias
e testemunhos pessoais – são criticados pelas principais ciências sociais porque não são vistos como positivistas,
rigorosos, teóricos ou académicos suficientes. No entanto, grande parte do feminismo procura desafiar
as visões convencionais sobre a epistemologia, enfatizar a interdisciplinaridade e oferecer ferramentas
inovadoras de análise e ação política.
Página 3 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
Temas e debates feministas contemporâneos
Embora às vezes pareça que o feminismo se fraturou desde a década de 1970 e
portanto insustentável como movimento em grande escala, o feminismo sempre incluiu divisões e visões divergentes.
Nunca houve uma visão feminista única do mundo e, na verdade, mesmo dentro de um único contexto nacional, o feminismo
tem variado. Na era contemporânea, três debates caracterizaram as teorias e práticas políticas feministas
ocidentais:
• Igualdade como diferença ou semelhança – onde estão as mulheres?
• Diferenças entre mulheres – que mulheres?
• A relação entre sexo e género – que trabalho desempenha a categoria da mulher no pensamento feminista e na vida
sociopolítica mais ampla?
Enquanto o primeiro debate tende a assumir um binário estável de homem-mulher, os outros debates centram-se em
desafiar a universalidade e a estabilidade da categoria de mulher e, ao fazê-lo, colocam em questão os fundamentos
convencionais do feminismo-como-mulher e levantam questões sobre a unidade do feminismo. O resto do capítulo
explorará estes debates e as implicações resultantes para o estudo do género e da política.
(pág. 91) Igualdade como igualdade ou diferença: “Onde estão as mulheres?”
As primeiras críticas feministas ao estudo político, especialmente o cânone ocidental, centraram-se no rastreamento da
ausência de mulheres nos textos centrais da tradição ocidental (Zerilli 2006, 108). Entre outros, Jean Bethke Elshtain
(1981), Susan Moller Okin (1979) e Carole Pateman (1988) traçaram as formas como os textos canónicos ocidentais restringiam
as mulheres à esfera privada do agregado familiar e justificavam a sua exclusão da esfera pública com base em
concepções naturalizadas de sexo e gênero, divisão sexual do trabalho e cidadania.
Por exemplo, Okin (1989) criticou a teoria do liberalismo de John Rawls porque esta não conseguia explicar as injustiças
enraizadas nas relações familiares. Enquanto algumas feministas argumentavam que o cânone estava falido, outras
pretendiam integrar as mulheres nos entendimentos canónicos existentes do político; outros ainda pretendiam
transformar conceitos-chave como democracia, cidadania, liberdade, igualdade e direitos, centrando o género como uma
categoria constitutiva da política (Zerilli 2006, 110-111). Um tema importante que emergiu do
questionamento do cânone ocidental foi um desafio fundamental à ideia de que a biologia era o destino, que tinha posicionado as
mulheres como uma classe naturalmente inferior. Como disse Simone de Beauvoir ([1949]1973, 267): “Ninguém nasce
mulher, mas torna-se mulher”.
Pelo menos desde a década de 1960, várias escolas de feminismo surgiram como resposta a esta ideia de papéis de género
socialmente construídos para perguntar: “Onde estão as mulheres?” Ao explorar esta questão, alguns argumentam que
igualdade significa que homens e mulheres devem ser tratados da mesma forma, outros que igualdade significa
reconhecimento das diferenças entre homens e mulheres,
Página 4 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
e outros ainda que vão além do debate igualdade/diferença para rejeitar a ideia de comparar as mulheres com as
normas masculinas.
Ecoando argumentos anteriores apresentados por Mary Wollstonecraft (1792) e John Stuart Mill
([1869]1999), o feminismo liberal surgiu como uma forma de integrar as mulheres nas estruturas
existentes, com base na premissa de que homens e mulheres deveriam ser tratados de forma igual. Esta escola de
feminismo baseou-se nas ideias liberais clássicas relativas ao Estado, à autonomia individual, ao progresso, à
racionalidade e à razão, e aos direitos legais para argumentar que a exclusão das mulheres na esfera pública era injustificada.
Além de estenderem as ideias liberais existentes às mulheres e aplicá-las a questões de discriminação no emprego,
igualdade salarial e representação no governo, as feministas liberais também desafiaram a divisão público-privada
para argumentar que questões como cuidados infantis acessíveis e universais eram assuntos para o Estado e não
para o Estado. do que apenas preocupações com a vida privada-doméstica. Este desafio para o público -
a divisão privada levou a um campo de estudo conhecido como ética do cuidado. As feministas da ética do cuidado
demonstram que o cuidado é pública e politicamente relevante, dependente de relações e redes de
interdependência humana que exigem uma mudança nos valores adotados pelo Estado no desenvolvimento de
políticas públicas (Tronto 1994; Chakraborti 2006). Como observa Olena Hankivsky (2004, 1): “Uma ética do
cuidado trouxe à tona dimensões públicas de nossas vidas que têm sido em grande parte não investigadas... Os
valores [de uma ética do cuidado] podem ser considerados essenciais para viver uma vida digna e gratificante. e vida
equilibrada.” Outras feministas, como Wendy Brown (1995), embora apoiem a ética do cuidado, questionam a
capacidade do Estado liberal-democrático de abordar adequadamente as preocupações feministas, mesmo que o
(pág. 92)
Estado seja um local (limitado e regulador) de mudança.
Tal como o feminismo liberal, o feminismo socialista e marxista também reconhece diferenças fisiológicas entre
homens e mulheres e desenvolve a ideia de que as mulheres devem ser tratadas da mesma forma que os
homens. No entanto, reflectindo as suas raízes ideológicas, as feministas socialistas e marxistas desenvolvem as suas
análises com base nas divisões de classe e nas estruturas sociais, em vez de no indivíduo e nas atitudes
autónomas. Embora as feministas socialistas sejam mais
aptas a favorecer mudanças pacíficas e graduais e estão mais dispostas a fazer mudanças dentro do sistema
existente (por exemplo, fazer com que os sindicatos representem os interesses das mulheres trabalhadoras), as
feministas marxistas favorecem a transformação revolucionária. Ambos, no entanto, são críticos do capitalismo e
da divisão do trabalho nas esferas pública e privada porque cria exploração e dependência económica das mulheres.
Ambas também criticam o feminismo liberal porque é facilmente cooptado pela “corrente masculina” e excessivamente
centrado na igualdade de oportunidades em vez da igualdade de resultados. Estas feministas argumentam que as
relações de classe e de género são formadas uma através da outra. Uma compreensão do capitalismo patriarcal
permite que estas formas de feminismo desafiem o carácter masculinista do salário familiar, dos sindicatos, do trabalho
doméstico não remunerado, dos baixos salários para as mulheres (Hartmann 1997, 104) e da divisão internacional
do trabalho que cria trabalhadores de género racializado no mundo. chamado terceiro mundo (Mohanty 2003).
Ao contrário do feminismo liberal e do feminismo socialista, o feminismo radical parte da premissa de que mulheres e
homens são diferentes e que não há necessidade de serem iguais. Isso é
a escola do feminismo que é muitas vezes considerada antimasculina, em parte porque apela à
Página 5 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated
Traduzido automaticamente pelo by Google
Feminismos
separação entre homens e mulheres e arranjos sociais alternativos, em vez de uma expansão ou modificação do sistema existente. E porque o feminismo é
frequentemente representado como radical pela corrente principal, é por vezes referido como “a palavra F” – aquilo que é indizível.
No entanto, através de grupos de sensibilização e outras formas de organização, o feminismo radical informa de forma importante os discursos
públicos sobre a liberdade reprodutiva, a violência contra as mulheres, a pornografia, o assédio sexual (Dworkin e MacKinnon 1997), a homofobia
e a heterossexualidade compulsória (ver o capítulo de Lind neste volume ), os direitos dos trabalhadores do comércio sexual e a violação.
Da mesma forma, feministas radicais como Kate Millet (1970) desenvolveram teorias que expandiram os significados da política para incluir as relações pessoais e
sexuais e demonstraram que o estudo do patriarcado estava intrinsecamente ligado ao poder, um conceito-chave na política. Ao contrário das escolas de
pensamento acima mencionadas, as primeiras feministas radicais como Shulamith Firestone (1997) argumentaram que a classe sexual surge diretamente da
realidade biológica, especificamente das funções reprodutivas da família tradicional; Em suma, havia uma essência cognoscível na mulher. A
dependência feminina dos homens surgiu por causa do patriarcado e da opressão do corpo feminino. Embora reconheçam a importância de uma análise material-
económica, as feministas radicais também enfatizam que a divisão original do trabalho (isto é, a procriação) é também psicossexual, na medida em que as
mulheres são falsamente levadas a acreditar que o sexo com homens é obrigatório e prazeroso. Como resultado, as feministas radicais querem uma revolução
que elimine não apenas o privilégio masculino, mas também a “dialética do sexo”, nomeadamente, a própria distinção de sexo, através da qual “as
diferenças genitais entre os seres humanos não mais importariam culturalmente” (Firestone 1997, 25) . Isto, argumentam alguns, ocorreria em parte através de novas
(pág. 93)
tecnologias que proporcionariam mais liberdade reprodutiva às mulheres, eliminariam as categorias de homossexualidade e heterossexualidade e promoveriam
relacionamentos baseados nas mulheres.
Nas últimas três décadas, as afirmações e teorias feministas ultrapassaram os termos ideológicos de liberal, socialista e radical e são agora moldadas por
combinações inventivas de numerosas formas de crítica que as incluem, mas também se estendem à teoria crítica, à ética do discurso, à
filosofia analítica. , hermenêutica, estruturalismo, existencialismo, fenomenologia, desconstrução, teoria pós-colonial, psicologia e neomarxismo (Dietz 2003,
400).
Esta hibridização informa o feminismo masculino (ou profeminismo). O feminismo masculino é radical na medida em que procura abordar as raízes do
patriarcado, mas difere da escola do feminismo radical na medida em que não tem como premissa a eliminação da distinção sexual. As feministas
masculinas desafiam especificamente os movimentos antifeministas pelos direitos dos homens que culpam as mulheres pelas leis de divórcio e custódia
que favorecem proeminentemente as mulheres; Muitas vezes, os antifeministas opõem-se aos direitos das mulheres e às mudanças na estrutura familiar tradicional
com base em normas religiosas e culturais. Além de desafiarem tais ideias, os feministas masculinos criticam a posição masculinista, que sustenta que o
ideal masculino tradicional está ameaçado pela feminização da sociedade. Baseando-se na ideia feminista estabelecida de que o género é
socialmente construído, os feministas masculinos argumentam que, porque os papéis de género são aprendidos, podem ser aprendidos de forma diferente e,
como tal, o feminismo pode servir os interesses dos homens (Brod 1998). E, de facto, surgiram várias vertentes de estudos sobre homens e
masculinidade que pretendem ser consistentes com ideologias anti-sexistas e anti-heteronormativas. David Kahane (1998, 213–
Página 6 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
215), no entanto, também observa que o feminismo masculino é intrinsecamente um oxímoro, porque embora os
homens sejam capazes de aprofundar a sua compreensão dos seus próprios papéis no privilégio e na opressão
sexistas e de operacionalizar esse conhecimento, eles ainda são parte do problema, uma vez que não podem
conhecer plenamente ou transcender as vantagens que lhes são conferidas. Como resultado, as feministas masculinas
devem estar dispostas a desenvolver compreensões ambíguas de si mesmas porque estão implicadas no
patriarcado, a estar abertas à crítica e à autocrítica, e a envolver-se em amizades activistas para negociar cursos de acção.
Na mesma linha de algumas das formas de feminismo mencionadas anteriormente, o ecofeminismo também visa
reconciliar diferenças entre binários, neste caso entre masculinidade e feminilidade e natureza versus
homem. Baseando-se no pós-estruturalismo, no pós-colonialismo, no neo-marxismo e em outras estruturas,
diferentes vertentes do ecofeminismo sustentam que existe um forte paralelo entre o domínio dos homens sobre as
mulheres e a violação da natureza pelos homens e pelos movimentos masculinistas.
(pág. 94) atitudes e métodos que constroem as mulheres como passivas e
desenvolvimento económico acima da natureza (Mies e Shiva 2005; Ress 2006; Schaefer 2006).
A ativista e acadêmica antiglobalização Vandana Shiva (1989) argumenta que a libertação das mulheres depende da
libertação ecológica (especialmente no contexto da linha de cor que constitui o Sul Global) e da adoção do
princípio feminino, que os homens também podem adotar. criar sociedades que melhorem a vida e não
condições que reduzam ou ameacem a vida. Para algumas ecofeministas, os sistemas capitalistas e
patriarcais cruzam-se com estruturas neocoloniais e racistas, nas quais o colapso ecológico e a
desigualdade social estão intrinsecamente relacionados com o paradigma de desenvolvimento dominante que
coloca o homem especulador contra e acima da natureza e das mulheres. Para estas feministas, a produtividade
pode ser reconceptualizada fora do domínio da acumulação e destruição de capital e em termos de
sustentabilidade, trabalho valorizado das mulheres, harmonia entre a natureza e homens e mulheres, e
conhecimento local indígena e diversificado. Como tal, os homens não se situam como padrão de avaliação
da humanidade e da vida política.
“Quais mulheres?” Diferenças entre as mulheres
Enquanto o primeiro conjunto de debates assume categorias binárias estáveis de mulher-homem, o segundo
aborda as diferenças entre as mulheres através do ponto de vista feminista e em termos de subjetividade, em vez
de uma categoria unificada de mulheres. Embora algumas questões continuem nos debates feministas (por
exemplo, o corpo), por vezes o foco nas diferenças entre as mulheres desmoronou numa forma de política de
identidade que tem sido criticada por algumas feministas, especialmente por deslocar questões de classe (Fraser
1997). No entanto, uma das principais conclusões políticas da análise das diferenças entre as mulheres é
que a vida de todos é composta por múltiplos discursos de poder que se cruzam e que são irredutíveis a uma
única dimensão, como o género. As diferenças cruzadas, ou interseccionalidade – que será discutida mais
especificamente mais adiante e também no Capítulo 2 deste volume – tornaram-se cada vez mais
significativas para o feminismo porque desafiam a ideia de uma noção universal de irmandade e de
experiências das mulheres.
Página 7 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated
Traduzido automaticamente peloby Google
Feminismos
Pelo menos desde meados do século XIX, nos Estados Unidos, figuras como Sojourner Truth defenderam os direitos das mulheres e lutaram contra a escravatura
e falaram sobre as lutas enfrentadas por homens e mulheres negros (King 1988, 42-43); estas mulheres negras residentes nos EUA desafiaram o
racismo das sufragistas brancas que lutavam pelo direito de determinadas mulheres votarem sem abordar adequadamente a escravatura. Além
disso, a coleção histórica de Tharu e Lalita (1991) traça os escritos das mulheres na Índia em onze línguas diferentes desde 600 a.C.,
demonstrando a abundância de ideias sobre a construção e as normas de género. A Índia é uma importação ocidental, mas também observa
que os tentáculos do colonialismo significaram que o feminismo ocidental pode escolher se quer envolver-se com o pensamento e a práxis
não-ocidentais, embora este não seja o caso daqueles que trabalham nas periferias.
(pág. 95) Chandra Mohanty (2003, 17–24) oferece uma forma de feminismo do terceiro mundo, às vezes
chamado feminismo pós-colonial, no qual ela centraliza as interseções dos discursos de raça, classe e gênero. Ela utiliza criticamente o termo terceiro
mundo para recusar estruturas feministas ocidentais que assumem e privilegiam uma concepção etnocêntrica e homogeneizada de feminismo e patriarcado;
isso ocorre porque a mulher média do terceiro mundo é muitas vezes construída como sexualmente restringida, ignorante, pobre, sem instrução, ligada à
tradição, passiva e orientada para a família, e esta imagem é justaposta à suposta mulher educada, moderna, autônoma, livre
de família, sexualmente liberada. Mulher ocidental. Através da análise materialista discursiva e histórica, Mohanty (2003, 34-36) adverte contra a
universalização das experiências das mulheres porque isso descontextualiza as formas históricas e locais específicas como a reprodução, a divisão
sexual do trabalho, as famílias, o casamento e os agregados familiares são organizados. Com a intenção de construir uma solidariedade feminista
não colonizadora dentro e fora das fronteiras nacionais, Mohanty chama a atenção para a micropolítica do contexto, da
subjetividade e da luta, bem como para a macropolítica dos sistemas e processos económicos e políticos globais.
O feminismo do terceiro mundo é muito moldado por mudanças históricas dentro dos movimentos nacionalistas, que ocorreram
na forma de lutas anti-coloniais/anti-imperiais, movimentos de reforma de modernização nacional, exploração estatal das mulheres e revivalismos
nacionalistas culturais religiosos (Heng 1997). Na Índia, as mulheres Dalit, por exemplo, têm criticado as feministas, tanto dentro como fora do país, que
enquadram os direitos das mulheres relacionados com o emprego e as reivindicações de terras sem considerações de casta e classe (Rege 2006)
e que separam a teorização feminista da organização política. Com base no trabalho de feministas como Mohanty e Li Xiaojiang (1989) na China,
Feng Xu (2009, 197) explora a heterogeneidade do feminismo chinês em relação às ideias maoístas, à era da reforma e ao feminismo internacional
baseado na ONU para destacar que os debates sobre os feminismos chineses ocorrem dentro da própria China, e não sempre e apenas no diálogo com
interlocutores ocidentais e japoneses.” No contexto da Nigéria, Ayesha M. Iman (1997) defende o feminismo local que se desenvolveu no contexto do boom
“
pós-petróleo e dos regimes militares que dominaram desde o domínio colonial britânico. Os movimentos feministas palestinos são
fortemente moldados pela ocupação contínua que cria
Página 8 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso
pessoal (para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated pelo
Traduzido automaticamente by Google
Feminismos
opressão e não apenas direitos formais de igualdade de género entre homens e mulheres (Kawar 1996).
Essas feministas enfatizam as especificidades da história, da nação e do poder.
Nos Estados Unidos, feministas negras como bell hooks (2000), Audre Lorde (1984), Patricia Hill Collins (1990, 2000) e Evelyn
Simien (2006) também recusaram pressupostos universalizantes sobre a irmandade. Hooks, por exemplo, examina o
privilégio branco, o classismo e o sexismo no trabalho de Betty Friedan, que Hooks argumentou que tornou sinônimo a situação
das mulheres brancas e não-brancas. hooks não questionou que as mulheres eram oprimidas, mas argumentou que o sexismo
variava em conteúdo e forma; Assim, o seu trabalho como feminista negra enfatizou o valor de examinar o capitalismo patriarcal supremacista
branco. Além de desafiar os apagamentos da racialização, do desejo sexual e da classe
(pág. 96) por feministas brancas, o feminismo negro centra o conhecimento especializado
criado e vivido por mulheres afro-americanas, o que esclarece uma perspectiva de e para essas mulheres, que estão em situação
diferente e diferenciada. É importante ressaltar que as questões enfrentadas pelas mulheres afro-americanas nos Estados Unidos e
pelas mulheres negras noutras partes do mundo, incluindo as de outros estados colonizadores e de diferentes nações de África
ou das Caraíbas, podem sobrepor-se, mas não podem ser conflitantes.
O feminismo chicana tem tantos significados diferentes quanto existem chicanas diferentes. Em geral, esta forma de feminismo refere-
se a um quadro crítico que centra a relação entre os discursos de desigualdade de raça, classe, género e sexualidade à medida que afectam
as mulheres de ascendência mexicana nos Estados Unidos. Cherrie Moraga (1981, 52-53) aborda o feminismo chicana como “uma
teoria em carne e osso [que] significa aquela em que as realidades físicas de nossas vidas – a cor da nossa pele, a terra ou o
concreto onde crescemos, nossos anseios sexuais – tudo fundir-se para criar uma política nascida da necessidade.
Aqui, tentamos colmatar as contradições da nossa experiência. Somos as de cor em um movimento feminista branco.
Somos as feministas entre as pessoas da nossa cultura. Muitas vezes somos as lésbicas entre os heterossexuais. Fazemos essa ponte
nomeando-nos e contando nossas histórias com nossas próprias palavras.” Gloria Anzaldúa (1999) conceitua essas diferenças em termos
de fronteiras psicológicas, sexuais, espirituais e físicas, hibridismo e identidade mestiça – todos os quais se tornaram
relevantes para o feminismo para além dos contextos chicanas. Edwina Barvosa (2009) argumenta que as ambivalências, os hibridismos e as
contradições são componentes importantes da formação da identidade autoconstruída. É importante ressaltar que Cristina Beltran
(2004) alerta que, embora as teorias da identidade híbrida e mestiça tenham gerado agendas de justiça social, algumas também
colapsaram em discursos unificadores que sofrem dos mesmos sonhos de homogeneidade, unidade, autenticidade e conhecimento
experiencial idealizado que atormentam fluxos irreflexivos. da política de identidade. Como tal, tal como tipos de feminismo, o feminismo
chicana reflecte constantemente sobre as suas próprias fronteiras e hegemonias.
Em sociedades colonizadoras como Canadá, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, feministas indígenas como Cheryl Suzack et
al. (2011), Andrea Smith (2005, 2006), Joyce Green (2000, 2007) e Linda Tuhiwai Smith (1999) identificaram o impacto do genocídio e das
formas contínuas de colonialismo ao abordar questões como as taxas desproporcionais de violência contra indígenas mulheres
indígenas, metodologias indígenas e resistência das mulheres indígenas.
Baseando-se em casos específicos de racismo e sexismo
Página 9 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso
pessoal (para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
Fora das suas comunidades, bem como o sexismo dentro das suas comunidades, as feministas indígenas
argumentaram que o patriarcado não pode ser eliminado sem abordar o colonialismo. Isto porque as leis
implementaram o colonialismo, regulamentando e tentando erradicar os corpos e conhecimentos das mulheres
indígenas e desapropriando todos os povos indígenas das suas terras. Para as feministas indígenas, a resistência
contra tais tácticas baseia-se nas ligações com outras mulheres e também em termos da sua nação
específica (por exemplo, Métis, Cree, Mohawk, Dene) e da sua terra de relacionamento. Isto envolve coletividade
(pág. 97)
à acção com os homens indígenas, regenerando epistemologias e
culturas indígenas em todas as esferas da vida (incluindo a descolonização do feminismo) e centrando o papel das
mulheres como decisoras respeitadas. Alguns veem a mudança política dentro do Estado-nação, enquanto outros
propõem um afastamento do Estado e uma aproximação às comunidades e epistemologias indígenas.
Fundamentado no trabalho activista, o feminismo anti-racista (que pode incluir o feminismo negro e indígena) expõe
as formas como o sexismo funciona nas comunidades não-brancas e como os discursos da supremacia branca
nas nações ocidentais se entrelaçam com o patriarcal e o capitalismo. Antes e depois dos acontecimentos de
11 de Setembro de 2001, as feministas anti-racistas desafiaram, por exemplo, as representações sexistas
eurocêntricas e islamofóbicas do véu, que estão excessivamente determinadas a serem inerentemente
opressivas. Além de desafiarem os modos hegemónicos de alteridade que excluem as mulheres não-
brancas da sociedade dominante, as feministas anti-racistas também resistiram a outras análises feministas que
colocam uma forma de diferença contra outra. O ensaio de Susan Moller Okin (1999) “O multiculturalismo é
ruim para as mulheres?” por exemplo, suscitou muito debate sobre direitos culturais versus direitos de igualdade sexual
(Nussbaum 2000; Phillips e Dustin 2004; Arneil et al. 2007; Song 2007).
Feministas liberais como Okin afirmam que a acomodação cultural dos direitos de grupo mina os direitos individuais
das mulheres, contraria os valores de um Estado secular e não aborda a forma como a maioria das culturas e
religiões e especialmente as culturas e religiões não-ocidentais são opressivas. As feministas anti-racistas
mostram que tais argumentos apenas reproduzem posições conservadoras sobre o uso do véu nas mulheres,
homogeneizam as culturas islâmicas como bárbaras, sustentam o pânico moral sobre “uma invasão” do Islão, confiam
acriticamente no Estado para proteger o secularismo e os direitos individuais, e perpetuam um guião de resgate.
através do qual os Estados e os homens europeus estão a salvar de forma proeminente mulheres muçulmanas
em perigo de homens muçulmanos perigosos (Thobani 2007; Razack 2008). Assemelhando-se ao ensaio de Gayatri
Chakravorty Spivak (1988) “Can the Subaltern Speak?” estas feministas identificam os fechamentos e aberturas
para as mulheres marginalizadas, centrando as interações entre racismo, patriarcado e imperialismo.
É importante ressaltar que as feministas anti-racistas refletiram sobre as fissuras e conexões entre elas.
Bonita Lawrence e Enaskhi Dua (2005), por exemplo, observam que nem todos os povos não-brancos estão
igualmente situados socialmente e que, como tal, as estratégias de libertação política precisam de reflectir isto.
Em particular, examinam as formas como as experiências, conhecimentos e perspectivas indígenas são
ofuscadas no trabalho anti-racista. Para contrariar isto, argumentam que é necessário descolonizar o anti-
racismo.
Página 10 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
Relacionado ao feminismo anti-racismo está a forma de feminismo que emergiu dos estudos críticos sobre a
branquitude. Tal como as feministas não-brancas, Peggy McIntosh (1995) argumenta que as questões do racismo e
do sexismo não dizem apenas respeito às desvantagens de outros, mas também ao privilégio de alguns. Em
particular, ela examina o privilégio branco entre as feministas brancas usando a metáfora de uma mochila
invisível e leve que carrega provisões especiais, garantias, ferramentas, mapas, guias, livros de códigos, passaportes,
vistos, roupas, bússola, equipamento de emergência e cheques em branco que permitem
(pág. 98) mulheres brancas e feministas brancas pareçam neutras,
normal e o ponto de referência universal (77). Ruth Frankenberg (2000) segue McIntosh, na medida em que
ela também analisa as maneiras pelas quais os discursos raciais privilegiam as mulheres brancas porque a
branquitude é um local de vantagem estrutural, um conjunto de práticas culturais geralmente não marcadas e sem
nome que são co-construídas através de normas de gênero, classe, e incapacidade. Ao chamar a atenção para
o privilégio branco, esta escola de feminismo coloca em primeiro plano o racismo estrutural do privilégio e da penalidade.
Outra escola de feminismo que se tornou mais proeminente nas últimas décadas é chamada de estudos
feministas críticos sobre deficiência. Acadêmicos como Parin Dossa (2009) e Rosemarie Garland-Thomson (2002)
mostram não apenas que os estudos sobre deficiência precisam se envolver melhor com a teoria feminista, mas
também que as teorias feministas de tecnologia reprodutiva, diferenças corporais, ética do cuidado
e imigração precisam integrar uma análise de deficiência. Isto acontece em parte porque, tal como o género, a deficiência
é uma ideia socialmente fabricada e não uma condição biomédica que demarca a deficiência em termos
de alteridade. As teorias feministas da deficiência visam não apenas integrar sujeitos marginalizados na
sociedade dominante, mas também transformar a sociedade, expandir e aprofundar a teoria feminista e centrar os
sistemas de capacidade e deficiência como marcadores ideológicos e não biológicos do corpo.
Estas teorias examinam a subjetividade de género em termos de construções de deficiência e também de sistemas
compulsórios de capacidade corporal que normalizam e preservam designações privilegiadas de
autonomia, integridade, independência, competência, inteligência e valor.
Por exemplo, os seios das mulheres são tipicamente sexualizados, excepto se forem removidos ou com cicatrizes
médicas, afectando assim o estatuto sexual e a auto-estima e causando marginalização; políticas lideradas pelo
Estado de esterilização forçada daqueles considerados física ou mentalmente incapazes e abortos seletivos para
eliminar fetos com deficiência são preocupações feministas; e as mulheres racializadas com deficiência estão a
redefinir os parâmetros dos seus mundos sociais. Em suma, estas questões dizem respeito à liberdade
reprodutiva, aos códigos de desejo sexual e às intersecções de marginalização e resistência que
afectam mulheres em posições diferentes.
Debates sobre sexo e gênero: o que é mulher?
Enquanto o primeiro debate centra-se em trazer as mulheres para o domínio político dominado pelos homens e o
segundo desafia a universalização das concepções de mulher ao centrar as diferenças, o terceiro debate
põe em questão a própria ideia de um sujeito feminino pré-dado com um conjunto de interesses atribuídos
que surgem de experiências corporais e sociais de ser mulher, mesmo que em situação diferenciada.
Página 11 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
Em particular, este debate mais recente centra-se na relação entre sexo e género (ver também o capítulo de
Hawkesworth neste volume). Enquanto as feministas anteriores muitas vezes presumiam que o sexo era
uma categoria biológica e o género se referia aos significados socialmente construídos ligados
a um corpo sexuado, mais recentemente as críticas feministas questionam a estrutura binária normalizada
das representações de homem-mulher, (pág. 99) biológico (e não apenas social)
homem-mulher e masculinidade-feminilidade. . Isto porque estes binários mantêm a ideia de uma relação
natural entre um corpo biológico e uma identidade social. As críticas feministas não questionam que os
significados culturais são socialmente produzidos ou que as diferenças que se cruzam são importantes,
mas desafiam as grandes narrativas, incluindo a suposição subjacente de que a política de identidade (seja
uma identidade única ou múltiplas identidades que se cruzam) é a base do feminismo porque reifica o
corpo (Butler 1990; Brown 1995). Na verdade, as feministas estão divididas sobre como responder a questões
relacionadas com o corpo e a sexualidade, incluindo “como criar igualdade de género quando as mulheres
desfrutam da objectificação feminina (pornografia), reivindicam o direito de ganhar dinheiro
satisfazendo as necessidades sexuais masculinas (prostituição) e erotizam”. relações de desigualdade (sadomasoquismo)” (Snyd
Um tipo de feminismo que surgiu das críticas contra uma abordagem de sexo igual a género é o feminismo
pós-estrutural, que também moldou debates sobre as diferenças entre as mulheres.
Este tipo de feminismo baseia-se na concepção de poder de Michel Foucault, segundo a qual o poder é
uma força produtiva que constitui o sujeito no e através do poder disciplinar e da biopolítica.
Embora o feminismo pós-estrutural aceite a noção de que o género não é naturalmente, mas socialmente
significado, também desafia a suposição de que o sexo é natural e não também construído através da linguagem.
Em suma, o sexo não conduz ao género, mas é género – o “sexo” também é feito socialmente.
Assim, a constituição do sujeito moderno (por exemplo, o sujeito feminino, o sujeito masculino, o sujeito
lésbico negro) através de sistemas de construção de significado que produzem e organizam o sexo
também deve ser desconstruída. Baseando-se nas teorias psicanalíticas, foucaultianas e
feministas, Judith Butler (1990, 1993), por exemplo, não procura incluir as mulheres na categoria do agente
racional autónomo (um objectivo fundamental do feminismo liberal), mas em vez disso avança uma
abordagem desconstrutiva e genealógica. abordagem para criticar as condições através das quais os
sujeitos se tornam tipos particulares de corpos sexuados, sexualizados e de gênero. Butler insiste que o
género é o efeito de formações específicas de poder e de práticas de falocentrismo e de heterossexualidade
compulsória.
Butler (1990) oferece a noção de performatividade para colocar em primeiro plano a ideia de que a mulher não é
algo que os sujeitos são, mas sim algo que os sujeitos fazem dentro de termos já existentes: “o género é a
estilização repetida do corpo, um conjunto de actos repetidos dentro de um contexto altamente rígido.
quadro regulatório que congela no tempo e produz a aparência de substância, de um tipo natural
de ser” (25). A performatividade não é uma atuação de um ator ou sujeito preexistente; pelo contrário, é
um processo pelo qual as identidades de género são construídas através da linguagem, o que significa
que não existe nenhuma identidade de género que preceda a linguagem (o médico que faz o parto
declara “é um menino” ou “é uma menina”, por exemplo). A partir disso, Butler questiona a coerência
de um assunto. Mesmo as categorias de homem e mulher, argumenta ela, são produzidas
performativamente através de
Página 12 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
repetição como se fossem originais, verdadeiras e autênticas (Butler 1997, 304); Da mesma forma, a heterossexualidade
compulsória também é construída e regulada através da repetição. (pág. 100)
As categorias de género e os desejos sexuais, por outras palavras, não são nem essencialmente estáveis nem
totalmente cognoscíveis, pois são produzidos no processo de imitação das suas próprias idealizações.
É por isso que “não existe um género 'próprio', um género próprio de um sexo e não de outro, o que é, em certo sentido,
uma propriedade cultural do sexo. Onde essa noção do 'próprio' opera, ela é sempre e apenas indevidamente
instalada como efeito do sistema compulsório” (ibid., 306). Com efeito, Butler rejeita a distinção sexo-
género (portanto, contra a promoção de outras formas de feminismo que assumem que o homem-mulher se
mapeia facilmente no masculino-feminino) e conclui que a materialidade do corpo só pode ser
compreendida através de uma interpretação cultural especificada e contextualizada e discurso.
Embora Butler tenha sido criticada por outras feministas porque seu trabalho inicial minimizou o corpo material
e omitiu uma análise do transgenerismo, da transexualidade e das sexualidades racializadas – questões
que ela abordou desde então (Butler 1993, 1999) – seu trabalho mostrou de maneira importante que as categorias de
identidade tendem devem ser instrumentos de regimes regulatórios e, como tal, precisam ser persistentemente
perturbados e sujeitos a reinterpretação. Além disso, o trabalho de Butler, entre outros, impulsionou de forma
importante o desenvolvimento de campos de investigação como os estudos queer ou a teoria queer, que surgiram e são
parte integrante dos estudos feministas (bem como dos estudos sobre lésbicas e gays). A teoria queer, que surgiu
na década de 1990, baseia-se na ideia feminista de que o género é uma característica constitutiva da vida
política e que as orientações e identidades sexuais são moldadas por forças sociais. No contexto dos EUA, a teoria
queer também surgiu em resposta a práticas políticas, especificamente respostas homofóbicas à SIDA. Mas,
além do trabalho feminista (e dos estudos lésbicos e gays), a teoria queer expande o foco para incluir qualquer tipo de
atividades sexuais ou identidades que sejam consideradas desviantes e oferece uma crítica às políticas de identidade
tradicionais que consolidam categorias como mulheres, gays e gays. lésbica.
A abertura das categorias sociais também é característica do transfeminismo, uma consequência dos estudos
feministas, lésbicas e gays e queer. Embora aparentemente mais proeminente desde a década de 1990, o
transfeminismo existe há muito mais tempo, abordando rotineiramente questões relacionadas com a
perda de família, habitação e discriminação no emprego, estigma social e altas taxas de violência e também
confrontando a transfobia dentro de alguns círculos feministas (Stryker 2008, 101–111). O transfeminismo não se
trata simplesmente de misturar feminismo e transgenerismo, mas de romper a ideia de um binário (homem-mulher
mapeado em homem-mulher) e reconceptualizar o género em termos de um continuum.
Isto ocorre em parte porque o próprio significado de transgênero está em constante estado de transformação.
Currah, Juang e Minter (2006, xiv) observam que desde 1995, 'transgénero' é “geralmente utilizado para se referir a
indivíduos cuja identidade ou expressão de género não está em conformidade com as expectativas
sociais para o sexo que lhes foi atribuído. Ao mesmo tempo, termos relacionados usados para descrever identidades
específicas dentro dessa categoria mais ampla continuaram a evoluir e a se multiplicar.” Embora a terminologia
do transgenerismo possa ser insuficientemente inclusiva em alguns casos e imprecisa em outros, ela passou a incluir
também a categoria social dos termos transexual e transgênero como essencialmente transexualidade (Namaste
2005, 2). Bobby Noble (2006, 3) vê o
(pág. 101)
contestado e flutuante, mas acrescenta que
Página 13 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
“na sua forma mais provocativa, trans e o espaço a que se refere recusa os imperativos categóricos
médicos e psicológicos através dos quais sempre foi forçado a confessar.”
Vários termos relacionados (por exemplo, travesti, travesti, trans, mulher para homem, homem para mulher, boyz)
recodificam a linguagem de identidade, de modo que a categoria de transgênero tem significados expansivos e
contestados, embora estes também estejam sujeitos a vários tipos de processos normalizadores de construção de
significado; estes processos de normalização são evidentes especialmente nas discussões sobre quem é realmente
trans e se o intersexo deve ser incluído nas definições de transgénero e transexualidade (Currah et
al. 2006. xv; Greenberg 2006; Stryker 2008, 9).
A história de povos que desafiam as fronteiras de género social, médica e legalmente impostas é ampla (Stryker
2008). Alguns povos indígenas usam o termo duas pessoas espirituosas para se referir à identidade espiritual daqueles
que incorporam espíritos ou gêneros masculinos e femininos dentro do mesmo corpo. É importante ressaltar que
a linguagem da dualidade é contestada e tende a universalizar diferentes tradições indígenas (Lang 1998), e
há muitas vezes uma ligação presumida entre a dualidade e o transgenerismo. A distinção dos géneros indígenas
não normativos reside na ligação ao papel dos visionários e curandeiros que não vêem a sexualidade e o
género como separáveis de outros aspectos da vida. Mas como as epistemologias indígenas ainda permanecem à margem,
inclusive em grande parte do pensamento político feminista, é necessária mais compreensão sobre como os povos
indígenas descrevem géneros e sexualidades que estão fora do sistema binário dominante de governamentalidade
e como interpretar categorias não-ocidentais de formas que representem adequadamente diferentes significados
indígenas.
As semelhanças e diferenças entre os significados também podem ser encontradas na compreensão do Leste Asiático
e do Ocidente sobre os principais termos feministas. Embora seja importante examinar o crescente abismo
entre nações ricas e pobres em termos de primeiro mundo-terceiro mundo ou norte-sul (como esclarecem os debates
feministas sobre as diferenças entre as mulheres), isto muitas vezes exclui a diversidade do feminismo do
Leste Asiático, que não é nem Norte ocidental do Sul Global (Jackson, Jieyu e Juhyun 2008). As feministas do
Leste Asiático salientaram que os significados de sexo, género e sexualidade variam de acordo com a língua e a
especificidade cultural. O género e a sexualidade, por exemplo, não têm equivalentes preexistentes nas
línguas asiáticas e não são muito bem traduzidos, mas ainda assim foram retomados e também reinventados por
estudiosos do Leste Asiático (ibid., 2). Além disso, não está claro como a mistura de individualismo e vontade colectiva
tradicional em lugares como Taiwan, China e Coreia afecta de forma diferente a estabilidade ou a desconstrução
dos binários convencionais de homem-mulher (ibid., 19). A questão aqui é que mesmo as críticas à subjetividade
(feminina, masculina, trans) variam de acordo com o contexto cultural e histórico.
No geral, o terceiro debate sobre o significado da mulher desestabiliza uma compreensão binária
dos corpos biológicos femininos e masculinos que mapeiam claramente os corpos (pág. 102) para
sociais femininos e masculinos convencionais. Por outras palavras, esta abordagem à política de género rejeita
a ideia de que sexo é igual a biologia e género é igual a cultura. Não só os corpos biológicos femininos podem ser
homens e socialmente masculinos, mas o espectro de possíveis identidades de género transcende o binário
convencional de homem-mulher que
Página 14 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
domina as várias escolas de feminismo discutidas nas primeiras seções. Em última análise, este problema de género é
um desafio à coerência naturalizada de sexo, género, desejos sexuais e mulher.
categorias frequentemente consideradas estáveis entre as feministas discutidas nas seções anteriores.
O sujeito da mulher está morto no feminismo? O feminismo
está morto sem o sujeito da mulher?
Em suma, o feminismo foi moldado e revigorado por críticas contra a ideia de que o sujeito feminino tradicional, a mulher, é a
base da política feminista: nomeadamente, que a categoria da mulher é isolada ou priorizada em relação a outras
categorias; que a designação das mulheres como um grupo único, coerente e já constituído tem o efeito de
significar todas as mulheres igualmente como impotentes e sem agência; e que o próprio processo de definição
definitiva de género exclui e desvaloriza alguns corpos e práticas enquanto normaliza outros.
Estas críticas levantam uma questão espinhosa no pensamento feminista, que é apelidada por Seyla Benhabib (1995)
como “a morte do sujeito”. Benhabib pergunta: se o tema é uma ficção, um processo performativo de devir ou um corpo socialmente
feito que recusa os binários sexo-género, qual é a base do feminismo ou da feminilidade? Se não existe um sujeito cognoscível,
o que impulsiona os movimentos feministas e em nome de quem são feitas as reivindicações de libertação? Estas questões
têm sido por vezes enquadradas em termos de essencialismo versus antiessencialismo e construtivismo social, pelo
que se argumenta que as leituras essencialistas da identidade assumem demasiado (ou seja, que existe uma identidade de
grupo social fixa e permanente das mulheres), e as interpretações construtivistas não assumir o suficiente (ou seja,
que não existe um grupo social de mulheres).
Um tipo de resposta das feministas a esta tensão entre essencialismo e antiessencialismo tem sido desenvolver o que veio a
ser conhecido como interseccionalidade (ver também o capítulo de Hill Collins e Chepp neste volume). Embora exista uma
literatura crescente sobre a interseccionalidade entre as feministas, esta continua a ser uma lente de análise
marginalizada no estudo político dominante.
Interseccionalidade é um termo e uma estrutura de análise contestados, mas como um termo abrangente pode ser
geralmente definido como “os efeitos complexos, irredutíveis, variados e variáveis que resultam quando múltiplos eixos de
diferenciação – econômico, político, cultural, psíquico, subjetivo e experiencial”. -
se cruzam em contextos historicamente específicos”
(pág. 103) (Brah e Phoenix 2004, 76). Ange-Marie Hancock (2007, 64) especifica
que a interseccionalidade se baseia na ideia de que mais de uma categoria deve ser analisada, que as categorias têm
a mesma importância e que a relação entre categorias é uma questão empírica aberta, que existe uma interação dinâmica
entre fatores individuais e institucionais, que os membros dentro de uma categoria são diversificada, aquela análise de um
Página 15 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
conjunto de indivíduos está integrado à análise institucional e que afirmações empíricas e teóricas
são possíveis e necessárias.
O termo interseccionalidade foi especificamente cunhado e desenvolvido pela crítica racial
americana Kimberle Crenshaw (1989, 1991) como uma forma de abordar questões doutrinárias jurídicas
e de trabalhar dentro e contra a lei. Crenshaw usou a metáfora da intersecção de estradas para descrever
e explicar as formas únicas pelas quais a discriminação racial e de gênero se agravava.
A formulação da interseccionalidade de Crenshaw abriu um espaço conceptual através do qual
se pode estudar como uma combinação de várias opressões funciona em conjunto para produzir algo único
e distinto de qualquer forma de discriminação isolada. Com base na ideia de interseccionalidade, as
feministas desenvolveram conceitos e teorias (às vezes conflitantes) de opressões interligadas
(Razack 1998, 18), risco múltiplo (King 1988), discriminação dentro da discriminação (Kirkness 1987-88),
consciência múltipla (Matsuda 1992), epistemologias multiplex (Phoenix e Pattynama 2006),
posicionalidade translocacional (Anthias 2001), interconectividades (Valdes 1995), síntese (Ehrenreich
2002), interseccionalidade posicional e discursiva (Yuval Davis 2006) e agenciamentos (Puar 2007). O
que todas estas ideias divergentes partilham é a necessidade de ir além de uma abordagem
de eixo único que apresenta a categoria da mulher como estável e indiferenciada.
Várias outras feministas tentaram responder às críticas à “mulher” teorizando o género como uma
categoria analítica em vez de uma identidade natural (Harding 1986; Beckwith 2005).
Hawkesworth (1997, 681) observa que o gênero como categoria promove teorias sobre “a
produção cultural do desejo heterossexual, a produção psicanalítica da identidade individual,
as assimetrias de poder na vida social ou a estrutura da percepção”. Embora reconheça isto como
melhorias nas noções feministas convencionais de que sexo é igual a género, Hawkesworth argumenta que
mesmo nestes casos o género é apresentado como um explanan universal, pelo qual “invoca
secretamente o próprio terreno biológico que se propõe a repudiar….[Ele] opera dentro de si. os limites
de uma base/superestrutura” (662). Para contrariar esta tendência naturalizante, ela adverte
contra o colapso de diversas noções de corporeidade sexuada, sexualidade, identidade sexual
e de género, divisões de trabalho de género, relações sociais de género e simbolismo de
género num único termo género.
Embora Butler seja uma crítica severa das formações de sujeitos fixas e estáveis, ela também
reconhece que as pessoas politicamente marginalizadas podem querer ou ter de insistir na
utilização de categorias como lésbicas ou gays porque estão ameaçadas. Não há dúvida de que
alguns sujeitos (como lésbicas e gays) estão sob ameaças de obliteração, e essas ameaças acabam por
ditar os termos da resistência política (Butler 1997, 304). No entanto, estas categorias, afirma ela, são
prejudiciais na medida em que reinstalam um apelo à(pág.
essência,
104) quando na verdade é crucial perguntar
que versão da identidade lésbica ou gay está a ser utilizada, por quem e que benefícios e exclusões
são subsequentemente produzidos. Embora qualquer consolidação de identidade exija algum
conjunto de diferenciações e exclusões, não há forma de controlar a forma como essa identidade
será utilizada e, se se tornar permanente e rígida, exclui o “significado futuro”. Como tal, ecoando o
apelo de Spivak (1988) por “
Página 16 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
essencialismo” em que as alianças são desenvolvidas como formações contingentes e temporárias, Butler
(1997, 305) apela à “provisória estratégia”, pela qual as identidades são abordadas como locais de
contestação, revisão e rearticulação.
Young (1994) argumenta que uma categoria feminista pragmática de mulher é importante porque mantém um
ponto de vista fora do individualismo liberal e dá aos movimentos sociais feministas a sua
especificidade. Baseando-se em Jean Paul Sartre, Young oferece a noção de gênero como serialidade.
Ao contrário de um grupo que pressupõe que um conjunto de pessoas se reconhecem e se reconhecem uns
aos outros numa relação unificada, Young diz que uma série permite a compreensão de um colectivo social
cujos membros são unificados passivamente por objectos à sua volta (por exemplo, regras sobre o
corpo, menstruação, gravidez, desejo sexual, linguagem, roupas, divisão de trabalho). Como as
mulheres têm atitudes diferentes em relação a estes objectos, existe uma existência de género
desorganizada, os membros são apenas passivamente unificados e isolados uns dos outros, e a série é
confusa e mutável. Young argumenta que o género como serialidade evita a suposição de que as mulheres
são um colectivo social passivo com atributos e situações comuns; recusa a ideia de que a identidade de
género de uma pessoa a define isoladamente, seja psicológica ou politicamente, liga o género a outras
serialidades como a raça; e é distinto mesmo quando mapeado no sexo como uma série.
Integrando a crítica de que nem todas as mulheres partilham a mesma biologia ou as
mesmas experiências, Michaele Ferguson (2007) reconceitualiza a identidade em termos de práticas de fazer
em oposição a objetos que têm significado intrínseco. Ela rejeita a identidade como objeto porque
“quando concebemos a identidade como algo que podemos conhecer e acertar, acabamos tendo uma escolha
entre duas opções indesejáveis: ou continuamos procurando na vã esperança de que teremos sucesso
onde outros não o fizeram”. e descobrir a verdadeira essência da nossa identidade, ou nos resignamos
à incoerência do tema da democracia e da política feminista. Nenhuma das escolhas é
convincente” (35). Baseando-se no trabalho de Linda Zerilli (2006), ela desenvolve um relato da identidade
coletiva de gênero em termos de sistemas herdados de crenças, em vez de conhecimento sobre
todos os membros, como a categoria de mulher ganha significado através de práticas sociais complexas, em
vez de pontos em comum presumidos, e trocas políticas em vez de reivindicações de verdade. Uma
teoria do género, conclui Ferguson, deve reconhecer uma contestabilidade infinita sobre os seus próprios
termos, envolver-se numa autocrítica contínua e recusar-se a resolver a questão de quem “nós” somos.
Em vez de colocar um problema para o feminismo, o questionamento crítico contínuo de conceitos e
categorias que parecem fundamentais (como a mulher) abre as possibilidades de imaginar e reimaginar
diferenças em formas alternativas e novas (Dhamoon 2009). Assim, o tema da mulher não precisa ser
morto nem reverenciado, mas criticado persistentemente mesmo quando é utilizado; e o feminismo não
(pág. 105)
morre sem o sujeito da mulher porque isso assumiria que tanto o feminismo como os conceitos
organizadores são unidimensionais, incondicionais, estáveis e permanentes. Dito de outra forma, a criação da
mulher é em si uma atividade política.
Página 17 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
Futuros do Feminismo
Diferentes feminismos já corrigiram omissões e distorções que permeiam a ciência política, iluminaram relações
sociais e políticas negligenciadas pelos relatos dominantes e avançaram explicações alternativas para a
vida política (Hawkesworth 2005, 141) e formas alternativas de organização e vida. À medida que este campo de
estudo continua a desenvolver-se, é importante ter em mente que quando o feminismo se torna singular e é estritamente
definido e quando centros específicos são universalizados como pontos de referência (por exemplo, mulheres
brancas, feminismo ocidental, mulheres heterossexuais, lésbicas), falta muita coisa sobre história, diferença e
organização política.
O vasto espectro e profundidade do feminismo são prova do seu amplo apelo e aplicação global. Esta
diversidade pode levantar a questão de o que une diferentes vertentes do feminismo na prática (se é que existe
alguma coisa), se não o corpo biológico feminino ou o sentido partilhado socialmente construído de feminilidade? Isto
depende de coligações e alianças entre diferentes tipos de visões do mundo, experiências e práticas feministas
– coligações impulsionadas por preocupações de justiça social e não por concepções unificadas de identidade ou
experiências comuns. Diferentes tipos de feminismo já prevêem formas de realizar mudanças sociais, incluindo as
seguintes: inclusão nas correntes dominantes; trabalhar com ou contra instituições estatais; afastar-se
totalmente do Estado e aproximar-se das comunidades locais; reformular grandes instituições como a família
tradicional; acabar com a separação entre homens e mulheres; envolver-se em novas tecnologias reprodutivas;
oferecer desconstruções discursivas que produzem crises de categorias; e gerar comunidades feministas
descolonizadas e transfronteiriças. Embora muitas destas agendas possam entrar em conflito, a
possibilidade de alianças e coligações reside na crítica e, portanto, na perturbação do trabalho do poder – o
que Chela Sandoval (2000, 61-63) refere como confronto com a diferença e um “compromisso ético com relações
sociais igualitárias”. .”
Inevitavelmente, muitas destas alianças e coligações serão temporárias e específicas do contexto porque os locais
de poder e as capacidades transformadoras do poder serão compreendidas de forma diferente. Mas o que
atravessa todos os feminismos é uma crítica das forças e relações de poder. É este trabalho de crítica do poder que
continuará a ser delineado pelas feministas a partir de diferentes pontos de vista, e que levou a uma mudança entre as
feministas de uma política baseada na irmandade para uma política baseada na solidariedade entre as diferenças.
Referências
ANTIAS, Floya. 2001. “Além do feminismo e do multiculturalismo: localizando a diferença e a política de localização.”
Fórum Internacional de Estudos da Mulher 25(3): 275–286.
ANZALDUA, Glória. 1999. Borderlands/la frontera: A nova mestiça. São Francisco: Solteironas/
Tia Lute.
Arneil, Bárbara. 1999. Política e feminismo. Oxford: Editores Blackwell.
Página 18 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated by
Traduzido automaticamente Google
pelo Google
Feminismos
Arneil, Barbara, Monique Deveaux, Rita Dhamoon e Avigail Eisenberg (Eds.). 2007.
Justiça sexual/justiça cultural: Perspectivas críticas na teoria e na prática. Londres: Routledge.
BARVOSA, Edwina. 2009. Riqueza de si: identidades múltiplas, consciência mestiça e sujeito da política. Estação
universitária: Texas A&M University Press.
BEAVOIR, Simone de. [1949] 1973. O segundo sexo. Trad. EM Parshley. Nova York: Vintage.
Beckwith, Karen. 2005. “Uma linguagem comum de gênero?” Política e Género 1(1): 128–137.
Beltrán, Cristina. 2004. “Patrulhando fronteiras: Híbridos, hierarquias e os desafios da mestiçagem.”
Pesquisa Política Trimestral 57(4): 595–607.
Benhabib, Seyla. 1995. “Feminismo e pós-modernismo.” Em S. Benhabib, ed., Contenções feministas: uma troca
filosófica. Nova York: Routledge, 17–17.
Brah, Avtar e Ann Phoenix. 2004. “Não sou mulher? Revisitando a interseccionalidade.”
Jornal de Estudos Internacionais da Mulher 5(3): 75–86.
Brod, Harry. 1998. “Ser homem ou não ser homem - essa é a questão feminista.” Em T.
Digby, ed., Homens fazendo feminismo. Nova York: Routledge, 197–197.
Marrom, Wendy. 1995. Estados de lesão: Poder e liberdade na modernidade tardia. Princeton, NJ: Princeton University
Press.
Mordomo, Judith. 1990. Problemas de gênero: Feminismo e a subversão da identidade. Nova York: Routledge.
Mordomo, Judith. 1993. Corpos que importam. Nova York: Routledge.
Mordomo, Judith. 1997. “Imitação e insubordinação de género.” Em L. Nicholson, ed., A segunda onda: uma leitora na
teoria feminista. Nova York: Routledge.
Mordomo, Judith. 1999. Problemas de gênero: Feminismo e a subversão da identidade. Nova York: Routledge,
300–315.
Chakraborti, Chhanda. 2006. “Ética do cuidado e HIV: Um caso para mulheres rurais na Índia.”
Biopolítica do Mundo em Desenvolvimento 6(2): 89–94.
Chaudhuri, Maitrayee (Ed.). 2005. Feminismo na Índia. Londres: Zed Books.
Collins, Patrícia Hill. 1990. Pensamento feminista negro: Conhecimento, consciência e políticas de empoderamento. Boston:
Unwin Hyman.
Collins, Patrícia Hill. 2000. Pensamento feminista negro: Conhecimento, consciência e políticas de empoderamento. Nova York:
Routledge.
Página 19 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso
pessoal (para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
Crenshaw, Kimberle. 1989. “Desmarginalizando a intersecção de raça e sexo: Uma crítica feminista negra da doutrina
antidiscriminação, da teoria feminista e da política anti-racista.”
Fórum Jurídico da Universidade de Chicago: 139–167.
Crenshaw, Kimberle. 1991. “Mapeando as margens: Interseccionalidade, política de identidade e violência contra mulheres
negras.” Revisão da Lei de Stanford 43: 1241–1299.
Currah, Paisley, Richard M. Juang e Shannon Price Minter. 2006. “Introdução”. Em P.
Currah, RM Juang e SP Minter, eds., Direitos dos transgêneros. Minneapolis: University of Minnesota Press, I – XIV.
(pág. 107) Dhamoon, Rita. 2009. Política de identidade/diferença: como a diferença é produzida e
Por que isso importa. Vancouver: Imprensa da Universidade da Colúmbia Britânica.
Dietz, Mary G. 2003. “Controvérsias atuais na teoria feminista.” Revisão Anual de Ciência Política 6: 399–431.
Dossa, Parin. 2009. Corpos racializados, mundos incapacitantes. Toronto: Universidade de Toronto Press.
Dworkin, Andrea e Catharine MacKinnon (Eds.). 1997. Em perigo: as audiências dos direitos civis da
pornografia. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Ehrenreich, Nancy. 2002. “Subordinação e simbiose: Mecanismos de apoio mútuo entre sistemas subordinados.” Revisão da lei
da Universidade de Missouri – Kansas City 71: 251–324.
Elshtain, Jean Bethke. 1981. Homem público, mulher privada: Mulheres no pensamento social e político.
Princeton, NJ: Princeton University Press.
Ferguson, Michaele L. 2007. “Compartilhando sem saber: Identidade coletiva na teoria feminista e democrática.”
Hipátia 22(4): 30–45.
Pedra de Fogo, Sulamita. 1997. “A dialética do sexo.” Em L. Nicholson, ed., A segunda onda: um leitor
na teoria feminista. Nova York: Routledge, 19–19.
Frankenberg, Ruth. 2000. “Mulheres brancas, questões raciais: a construção social da branquitude.”
Em L. Back e J. Solomos, eds., Teorias de raça e racismo: um leitor.
Londres: Routledge, 447–447.
Fraser, Nancy. 1997. Justiça interrompida: Reflexões críticas sobre a condição “pós-socialista”.
Nova York: Routledge Press.
Garland-Thomson, Rosemarie. 2002. “Integrando a deficiência, transformando a teoria feminista.”
Jornal NWSA 14(3): 1–32.
Verde, Joyce. 2000. “O debate sobre a diferença: reduzindo os direitos aos sabores culturais.”
Jornal Canadense de Ciência Política 33(1): 133–144.
Página 20 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso
pessoal (para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
Verde, Joyce. 2007. “Levando em conta o feminismo aborígene.” Em J. Green, ed., Abrindo espaço para o feminismo
indígena. Black Point, Nova Escócia: Fernwood Publishing, 20–20.
Greenberg, Julie A. 2006. “As estradas menos percorridas: O problema com categorias sexuais binárias.”
Em P. Currah, RM Juang e SP Minter, eds., Direitos dos transgêneros.
Minneapolis: University of Minnesota Press, 51–51.
Hancock, Ange-Marie. 2007. “Quando multiplicação não é igual a adição rápida: Examinando a
interseccionalidade como paradigma de pesquisa.” Perspectivas sobre Política 5(1): 63–79.
Hankivsky, Olena. 2004. Política social e ética do cuidado. Vancouver: UBC Press.
Harding, Sandra. 1986. A questão científica no feminismo. Ithaca, NY: Cornell University Press.
Hartmann, Heidi. 1997. “O casamento infeliz do marxismo e do feminismo.” Em L.
Nicholson, ed., A segunda onda: uma leitora na teoria feminista. Nova York: Routledge, 97–97.
Hawkesworth, Maria. 1997. “Confundindo gênero”. Sinais 22(3): 649–685.
Hawkesworth, Maria. 2005. “Gerando ciência política: uma proposta imodesta.”
Política e Gênero 1(1): 141–156.
Hawkesworth, Maria. 2006. Investigação feminista: da convicção política à inovação metodológica. Nova Brunswick, NJ: Rutgers
University Press.
Heng, Geraldine. 1997. “'Uma ótima maneira de voar': Nacionalismo, o estado e variedades do feminismo do terceiro mundo.”
Em MJ Alexander e CT Mohanty, eds., Genealogias feministas, legados coloniais, futuros democráticos. Nova
York: Routledge, 35–35.
(pág. 108) Heywood, Leslie e Jennifer Drake. 1997. “Introdução”. Em L. Heywood e J.
Drake, eds., Agenda da terceira onda: Ser feminista, fazer feminismo. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1–1.
ganchos, sino. 2000. Teoria feminista: da margem ao centro. Boston: South End Press.
Iman, Ayesha M. 1997. “A dinâmica da vitória: uma análise das mulheres na Nigéria.” Em M.
J. Alexander e CT Mohanty, eds., Genealogias feministas, legados coloniais, futuros democráticos. Nova York: Routledge,
280–280.
Jackson, Stevi, Liu Jieyu e Woo Juhyun. 2008. “Introdução”. Em S. Jackson, L. Jieyu e W.
Juhyun, eds., Sexualidades do Leste Asiático: Modernidade, gênero e novas culturas sexuais.
Nova York: Zed Books, 1–1.
Kahane, David. 1998. “Feminismo masculino como oxímoro.” Em T. Digby, ed., Homens fazendo feminismo.
Nova York: Routledge, 213–213.
Página 21 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
Kawar, Amal. 1996. Filhas da Palestina: Mulheres líderes do movimento nacional palestino. Albany:
Imprensa da Universidade Estadual de Nova York.
King, Deborah K. 1988. “Múltiplos riscos, múltiplas consciências: O contexto de uma ideologia feminista negra.” Sinais
14(1): 42–72.
Kirkness, Verna. 1987–88. “Mulheres nativas emergentes.” Jornal Canadense de Mulheres e Direito 2(2): 408–
415.
Lang, Sabina. 1998. Homens como mulheres, mulheres como homens: Mudando o gênero nas culturas nativas americanas.
Trad. JL Vantine. Austin: Universidade do Texas Press.
Lawrence, Bonita e Enakshi Dua. 2005. “Descolonizando o anti-racismo”. Justiça Social 32(4): 120–143.
Li, Xiaojiang. 1989. Xinggou [lacuna sexual]. Pequim: Sanlian Press.
Senhor, Audre. 1984. Irmã de fora. Nova York: Crossing Press.
Matsuda, Mari J. 1992. “Quando a primeira codorna chama: Consciência múltipla como método
jurisprudencial.” Repórter da Lei dos Direitos da Mulher 14: 297–300.
McIntosh, Peggy. 1995. “Privilégio branco e privilégio masculino: um relato pessoal de como ver a correspondência
por meio do trabalho em estudos femininos.” Em M. Anderson e P.
H. Collins, eds., Raça, classe e gênero: uma antologia. Londres: Wadsworth Publishing Co, 70–70.
Mies, Maria e Vandava Shiva. 2005. Ecofeminismo. Halifax: Publicações Fernwood.
Mill, John Stuart. [1869]1999. A sujeição das mulheres. Pensilvânia: Universidade Estadual da Pensilvânia.
Millet, Kate. 1970. Política sexual. Nova York: Doubleday.
Mohanty, Chandra Talpade. 2003. Feminismo sem fronteiras: Descolonizando a teoria, praticando a solidariedade.
Durham, Carolina do Norte: Duke University Press.
Moraga, Cherrie. 1981. “Feminismo chicana como 'teoria em carne e osso'.” Em C. Moraga e G.
Anzaldua, eds., Esta ponte me chamou de volta: Escritos de mulheres radicais de cor. São
Francisco: Tia Lute Press.
Namastê, Viviane. 2005. Mudança de sexo, mudança social: Reflexões sobre identidade, instituições e imperialismo.
Toronto: Imprensa Feminina.
Nobre, Jean Bobby. 2006. Filhos do movimento: o risco de incoerência de FtM em uma paisagem cultural pós-
queer. Toronto: Imprensa Feminina.
NUSSBAUM, Martha. 2000. Mulheres e desenvolvimento humano: A abordagem das capacidades humanas.
Cambridge: Cambridge University Press.
Página 22 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
Okin, Susan Moller. 1979. Mulheres no pensamento político ocidental. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Okin, Susan Moller. 1989. Justiça, género e família. Nova York: Livros Básicos.
(pág. 109) Okin, Susan Moller. 1999. “O multiculturalismo é ruim para as mulheres?” Em J. Cohen, M.
Howard e MC Nussbaum, eds., O multiculturalismo é ruim para as mulheres?. Princeton, NJ: Princeton University
Press, 7–7.
Pateman, Carole. 1988. O contrato sexual. Stanford, CA: Stanford University Press.
Phillips, Anne e Moira Dustin. 2004. “Iniciativas do Reino Unido sobre casamento forçado: regulamentação, diálogo e
saída.” Estudos Políticos 52(3): 531–551.
Phoenix, Ann e Pamela Pattynama. 2006. “Editorial”. Jornal Europeu de Estudos da Mulher 13(3): 187–192.
Puar, Jasbir. 2007. Assemblages terroristas: Homonacionalismo em tempos queer. Durham, Carolina do Norte:
Duke University Press.
Razack, Sherene. 1998. Olhando nos olhos dos brancos: Gênero, raça e cultura em tribunais e salas de aula.
Toronto: Universidade de Toronto Press.
Razack, Sherene. 2008. Expulsão: A expulsão dos muçulmanos da lei e da política ocidentais.
Toronto: Universidade de Toronto Press.
Rege, Sharmila (Ed.). 2006. Escrevendo casta/escrevendo gênero: Narrando testemunhos de mulheres Dalit.
Nova Delhi: Zubaan Books.
Ress, Mary Judith. 2006. Ecofeminismo na América Latina. Nova York: Orbis Books.
Sandoval, Chela. 2000. Metodologia dos oprimidos. Mineápolis: Universidade de Minnesota.
Schaefer, Carol. 2006. Avós aconselham o mundo: Mulheres idosas oferecem a sua visão para o nosso planeta.
Boston: Trumpter.
Shiva, Vandana. 1989. Permanecendo vivos: Mulheres, ecologia e desenvolvimento. Londres: Zed Books Ltd.
Simien, Evelyn M. 2006. Vozes feministas negras na política. Albany: Imprensa da Universidade Estadual de Nova York.
SMITH, Andréa. 2005. “Feminismo nativo americano, soberania e mudança social.”
Estudos Feministas 31(1): 116–132.
SMITH, Andréa. 2006. “Heteropatriarcado e os três pilares da supremacia branca.” Em Incite!, ed., Cor da
violência: o incita! antologia. Cambridge, MA: South End Press, 68–68.
Página 23 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
Smith, Linda Tuhiwai. 1999. Metodologias de descolonização: Pesquisa e povos indígenas.
Londres: Zed Books Ltd.
Snyder, R. Claire. 2008. “O que é o feminismo de terceira onda? Um ensaio sobre novas direções.” Sinais
34(1): 175–196.
Canção, Sara. 2007. Justiça, género e a política do multiculturalismo. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University
Press.
Spivak, Gayatri Chakravorty. 1988. “O subordinado pode falar?” Em C. Nelson e L.
Grossberg, eds., Marxismo e a interpretação da cultura. Urbana: University of Illinois Press, 271–
271.
Stryker, Susan. 2008. História transgênero. Berkeley, CA: Seal Press.
Tharu, Susie e K. Lalita (Eds.). 1991. Mulheres escrevendo na Índia, volume 1: 600 aC até o início do século XX.
Oxford: Imprensa da Universidade de Oxford.
Thobani, Sunera. 2007. Assuntos exaltados: Estudos sobre a formação de raça e nação no Canadá.
Toronto: Universidade de Toronto Press.
TRONTO, Joana. 1994. Limites morais: um argumento político para uma ética do cuidado. Nova York:
Routledge.
(pág. 110) Valdés, Francisco. 1995. “Sexo e raça na cultura legal queer: ruminações sobre
identidades e interconectividades”. Revisão da Lei da Califórnia 5 (25): 25–71.
Walker, Rebeca (Ed.). 1995. Para ser real: Dizer a verdade e mudar a face do feminismo.
Nova York: Anchor Books.
Wollstonecraft, Maria. 1792. Uma reivindicação dos direitos da mulher com estruturas sobre assuntos morais e políticos.
Londres: Joseph Johnson.
Xu, Feng. 2009. “Os feminismos chineses encontram os feminismos internacionais: Identidade, poder e
produção de conhecimento.” Jornal Feminista Internacional de Política 11(2): 196–215.
Jovem, Iris Marion. 1994. “Gênero como serialidade: Pensando nas mulheres como um coletivo social.”
Sinais: Um Jornal para Mulheres na Cultura e na Sociedade 19(3): 713–738.
Yuval-Davis, Nira. 2006. “Interseccionalidade e política feminista”. Jornal Europeu de Estudos da Mulher 13(3):
193–209.
ZERILLI, Linda. 2006. “Teoria feminista e o cânone do pensamento político.” Em JS Dryzek, B. Honig e A. Phillips,
eds., O manual de teoria política de Oxford. Oxford: Oxford University Press, 106–124.
Rita Kaur Dhamoon
Página 24 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Machine Translated bypelo
Traduzido automaticamente Google
Feminismos
Rita Kaur Dhamoon é professora assistente de Ciência Política na Universidade de Fraser
Valley, Canadá.
Página 25 de 25
IMPRESSO EM MANUAIS OXFORD ONLINE (www.oxfordhandbooks.com). © Oxford University Press, 2018. Todos os direitos reservados.
Nos termos do contrato de licença, um usuário individual pode imprimir um PDF de um único capítulo de um título no Oxford Handbooks Online para uso pessoal
(para obter detalhes, consulte a Política de Privacidade e o Aviso Legal).
Assinante: Universidade de Reading; data: 26 de maio de 2018
Você também pode gostar
- Introdução à Teoria Feminista: Uma História de Lutas e Debates TeóricosDocumento31 páginasIntrodução à Teoria Feminista: Uma História de Lutas e Debates TeóricosJeferson AlcantaraAinda não há avaliações
- O Feminismo Matricentrico e As RelacoesDocumento12 páginasO Feminismo Matricentrico e As RelacoesIghor GonzagaAinda não há avaliações
- Genero Prati Cafe MininaDocumento25 páginasGenero Prati Cafe MininaEwerton Tekko MartinsAinda não há avaliações
- Movimento Feminista Brasileiro/ Movimento de Mulheres Uma Versão HistóricaDocumento35 páginasMovimento Feminista Brasileiro/ Movimento de Mulheres Uma Versão HistóricaIlze ZirbelAinda não há avaliações
- Teoria Feminina Marlise MatosDocumento28 páginasTeoria Feminina Marlise MatosEvellin AtrochAinda não há avaliações
- FeminismoDocumento31 páginasFeminismoAnnyBelfortAinda não há avaliações
- Metodologia Feminista e Estudos de GêneroDocumento8 páginasMetodologia Feminista e Estudos de GêneroAllem PipapoAinda não há avaliações
- Feminismo como crítica culturalDocumento13 páginasFeminismo como crítica culturalVanessaGasparinAinda não há avaliações
- Aula 2 - PISCITELLI Adriana. Recriando A Categoria Mulher - DecryptedDocumento25 páginasAula 2 - PISCITELLI Adriana. Recriando A Categoria Mulher - Decryptedlucasm4st3r100% (1)
- Comunicação e Feminismo Um Panorama A Partir Da Produção deDocumento15 páginasComunicação e Feminismo Um Panorama A Partir Da Produção deCida AlvesAinda não há avaliações
- O tráfico do gênero e as viagens da teoriaDocumento8 páginasO tráfico do gênero e as viagens da teoriaCintia TâmaraAinda não há avaliações
- Feminismo Marxista e Relação com o Marxismo em Tempos NeoliberaisDocumento20 páginasFeminismo Marxista e Relação com o Marxismo em Tempos NeoliberaisCamila Castanho AntunesAinda não há avaliações
- Relacao Entre Universal Particular e Singular em Analises FeministasDocumento27 páginasRelacao Entre Universal Particular e Singular em Analises Feministasjacqueline lewandowskiAinda não há avaliações
- Reflexões sobre a pluralização dos campos feministas no Brasil e América LatinaDocumento44 páginasReflexões sobre a pluralização dos campos feministas no Brasil e América LatinaFlávio LyraAinda não há avaliações
- ZOLIN, Lúcia Osana. Os Estudes de Gênero e A Literatura de Autoria Feminina No BrasilDocumento7 páginasZOLIN, Lúcia Osana. Os Estudes de Gênero e A Literatura de Autoria Feminina No BrasilJurema Silva Araújo0% (1)
- Teoria política feminista no BrasilDocumento5 páginasTeoria política feminista no BrasilYbériaAinda não há avaliações
- Interseccionalidades: pioneiras do feminismo negro brasileiroNo EverandInterseccionalidades: pioneiras do feminismo negro brasileiroNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- 1525-Texto Artigo-4224-1-10-20201217Documento19 páginas1525-Texto Artigo-4224-1-10-20201217Waléria MoreiraAinda não há avaliações
- 287-Article Text-554-1-10-20191114Documento6 páginas287-Article Text-554-1-10-20191114Antônio NascimentoAinda não há avaliações
- Feminismo e estereótipos de gênero em livros didáticos de FísicaDocumento22 páginasFeminismo e estereótipos de gênero em livros didáticos de FísicaKamylla XavierAinda não há avaliações
- Os debates historiográficos sobre a segunda onda do feminismoDocumento28 páginasOs debates historiográficos sobre a segunda onda do feminismoPatriciaAinda não há avaliações
- SciELO - Brasil - A Deriva Transfóbica Do Feminismo Radical Dos Anos 1970 A Deriva Transfóbica Do Feminismo Radical Dos Anos 1970Documento20 páginasSciELO - Brasil - A Deriva Transfóbica Do Feminismo Radical Dos Anos 1970 A Deriva Transfóbica Do Feminismo Radical Dos Anos 1970Carolina AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Construindo uma pedagogia feminista latino-americana na educação popularDocumento12 páginasConstruindo uma pedagogia feminista latino-americana na educação popularThaissa BispoAinda não há avaliações
- 6 - Ciencia e TecnologiaDocumento20 páginas6 - Ciencia e TecnologiaGRACIELE MARIA COELHO DE ANDRADE GOMESAinda não há avaliações
- Projeto FeministaDocumento25 páginasProjeto FeministaAurea SantosAinda não há avaliações
- Jaggar, Alis & Bordo, Susan Gênero, Corpo, SexualidadeDocumento343 páginasJaggar, Alis & Bordo, Susan Gênero, Corpo, SexualidadeGilsonhavAinda não há avaliações
- Genero Feminismo e Psico SocialDocumento16 páginasGenero Feminismo e Psico SocialGiovanna RabelloAinda não há avaliações
- Genero e Feminismos Na FFLCH LetrariaDocumento99 páginasGenero e Feminismos Na FFLCH LetrariaMiguel FontaniveAinda não há avaliações
- Marxismo, feminismos e feminismo marxistaDocumento11 páginasMarxismo, feminismos e feminismo marxistaMaria Júlia Montero50% (2)
- Bandeiras tornam-se objetos de estudo (violência, aborto, sindicalização)No EverandBandeiras tornam-se objetos de estudo (violência, aborto, sindicalização)Ainda não há avaliações
- Feminismo Negro e InterseccionalidadeDocumento20 páginasFeminismo Negro e InterseccionalidadeTianeAinda não há avaliações
- Gênero, Sexualidade e EducaçãoDocumento5 páginasGênero, Sexualidade e EducaçãomgsAinda não há avaliações
- Scavone - 2008 - Estudos de Gênero Uma Sociologia FeministaDocumento14 páginasScavone - 2008 - Estudos de Gênero Uma Sociologia FeministaHandi O. SantosAinda não há avaliações
- Pensamento Feminista Brasileiro: Formação e contextoNo EverandPensamento Feminista Brasileiro: Formação e contextoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Estudos de Gênero LUCINA SCAVONE PDFDocumento14 páginasEstudos de Gênero LUCINA SCAVONE PDFcoraline00Ainda não há avaliações
- 4547-Texto Do Artigo-7899-5-10-20190322Documento13 páginas4547-Texto Do Artigo-7899-5-10-20190322Renée Mariano LemeAinda não há avaliações
- Teoria QueerDocumento25 páginasTeoria QueerronaldotrindadeAinda não há avaliações
- InterseccionalidadesDocumento12 páginasInterseccionalidadesRaquel AFAinda não há avaliações
- Gênero é um processo que articula sexo, desejo e prática sexualDocumento14 páginasGênero é um processo que articula sexo, desejo e prática sexualDebora KalwanaAinda não há avaliações
- Feminismos e a luta por direitosDocumento22 páginasFeminismos e a luta por direitosLuana Silvestre P. dos SantosAinda não há avaliações
- Práticas Sociais, Discurso, Gênero Social: Explanações Críticas sobre a Vida SocialNo EverandPráticas Sociais, Discurso, Gênero Social: Explanações Críticas sobre a Vida SocialAinda não há avaliações
- Gênero em Perspectiva. Adriana PiscitelliDocumento15 páginasGênero em Perspectiva. Adriana PiscitelliThiago PanegaceAinda não há avaliações
- Joan Scott e o paradoxo da cidadania femininaDocumento16 páginasJoan Scott e o paradoxo da cidadania femininaAngela CarballalAinda não há avaliações
- Dar a vida e cuidar da vida: Feminismo e Ciências SociaisNo EverandDar a vida e cuidar da vida: Feminismo e Ciências SociaisAinda não há avaliações
- Duarte, D. D. A. O. o Feminismo No Corpo Da Mulher Trans.Documento8 páginasDuarte, D. D. A. O. o Feminismo No Corpo Da Mulher Trans.Thamires MeloAinda não há avaliações
- Feminist Media Perspectives - Margaret Gallagher - En.ptDocumento23 páginasFeminist Media Perspectives - Margaret Gallagher - En.ptJunior MellohAinda não há avaliações
- Resenha sobre Hegemonia e estratégia socialista de Laclau e MouffeDocumento12 páginasResenha sobre Hegemonia e estratégia socialista de Laclau e MouffeAndré Teixeira JacobinaAinda não há avaliações
- Algumas histórias sobre o feminismo no Brasil: Lutas políticas e teóricasNo EverandAlgumas histórias sobre o feminismo no Brasil: Lutas políticas e teóricasAinda não há avaliações
- Antropologia FeministaDocumento4 páginasAntropologia Feministajosefa carlosAinda não há avaliações
- Feminismo: os paradoxos da diferença sexualDocumento12 páginasFeminismo: os paradoxos da diferença sexualPoliana QueirozAinda não há avaliações
- A Categoria Gênero Nas Ciências Sociais e Sua InterdisciplinaridadeDocumento19 páginasA Categoria Gênero Nas Ciências Sociais e Sua InterdisciplinaridadeDEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAISAinda não há avaliações
- Pensamento feminista hoje: Sexualidades no sul globalNo EverandPensamento feminista hoje: Sexualidades no sul globalAinda não há avaliações
- Teoria da reprodução social: Remapear a classe, recentralizar a opressãoNo EverandTeoria da reprodução social: Remapear a classe, recentralizar a opressãoAinda não há avaliações
- Feminismo Negro: luta por reconhecimento da mulher negra no BrasilNo EverandFeminismo Negro: luta por reconhecimento da mulher negra no BrasilAinda não há avaliações
- Sociologia Evolucionista: Estudo, análise e exercíciosNo EverandSociologia Evolucionista: Estudo, análise e exercíciosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- resolução CNJ - trele trabalhoDocumento12 páginasresolução CNJ - trele trabalhoRenato SilvaAinda não há avaliações
- 27724-Texto do artigo-102062-2-10-20211221Documento56 páginas27724-Texto do artigo-102062-2-10-20211221Renato SilvaAinda não há avaliações
- Você tem parentesco com Getuilo Dornelles Vargas_ • FamilySearchDocumento4 páginasVocê tem parentesco com Getuilo Dornelles Vargas_ • FamilySearchRenato SilvaAinda não há avaliações
- LEI Nº 12551 - teletrabalho CLTDocumento1 páginaLEI Nº 12551 - teletrabalho CLTRenato SilvaAinda não há avaliações
- Receitas de Saladas VariadasDocumento8 páginasReceitas de Saladas VariadasRenato SilvaAinda não há avaliações
- Você tem parentesco com Tarsila de Aguiar do Amaral_ • FamilySearchDocumento4 páginasVocê tem parentesco com Tarsila de Aguiar do Amaral_ • FamilySearchRenato SilvaAinda não há avaliações
- Você tem parentesco com Ayrton Senna da Silva_ • FamilySearchDocumento4 páginasVocê tem parentesco com Ayrton Senna da Silva_ • FamilySearchRenato SilvaAinda não há avaliações
- Portfólio Park SulDocumento4 páginasPortfólio Park SulRenato SilvaAinda não há avaliações
- Grieco-Ikenberry-Mastanduno-Introdução-às-Relações-Internacionais-Perguntas-Persistentes-e-Perspectivas-ContemporâneasDocumento535 páginasGrieco-Ikenberry-Mastanduno-Introdução-às-Relações-Internacionais-Perguntas-Persistentes-e-Perspectivas-ContemporâneasRenato SilvaAinda não há avaliações
- Mecanismos de revisão de políticas comerciais (1)Documento10 páginasMecanismos de revisão de políticas comerciais (1)Renato SilvaAinda não há avaliações
- A Nova Sociologia Econômica - Princípios Teóricos e MetodológicosDocumento3 páginasA Nova Sociologia Econômica - Princípios Teóricos e MetodológicosRenato SilvaAinda não há avaliações
- protecionismo e livre-comércio (2)Documento19 páginasprotecionismo e livre-comércio (2)Renato SilvaAinda não há avaliações
- CADERNO_TÉCNICO_-_RES._NÍVIO_GONÇALVES_-_ALTERADO_compressedDocumento44 páginasCADERNO_TÉCNICO_-_RES._NÍVIO_GONÇALVES_-_ALTERADO_compressedRenato SilvaAinda não há avaliações
- Feminismo e direitos trabalhistas na ÁsiaDocumento18 páginasFeminismo e direitos trabalhistas na ÁsiaAimée SeixasAinda não há avaliações
- Critical Theory (Devetak, 2005) - PORTUGUESDocumento25 páginasCritical Theory (Devetak, 2005) - PORTUGUESRenato SilvaAinda não há avaliações
- The Oxford Handbook of Gender and Politics PORTUGUESDocumento970 páginasThe Oxford Handbook of Gender and Politics PORTUGUESRenato SilvaAinda não há avaliações
- Gramsci, Materialismo Histórico e Relações InternacionaisDocumento452 páginasGramsci, Materialismo Histórico e Relações InternacionaisJefpherson100% (3)
- Abstrações ImperfeitasDocumento16 páginasAbstrações ImperfeitasRenato SilvaAinda não há avaliações
- TELENCÉFALODocumento4 páginasTELENCÉFALOMarilia Lopes LealAinda não há avaliações
- Ginastica LaboralDocumento5 páginasGinastica Laboraldado_rossiAinda não há avaliações
- Lista de exercícios sobre tecido ósseoDocumento3 páginasLista de exercícios sobre tecido ósseoArtur AraujoAinda não há avaliações
- Comportamento Verbal: Teste da Leitura ComplementarDocumento3 páginasComportamento Verbal: Teste da Leitura ComplementarGaldino PlanosAinda não há avaliações
- Aula de Anatomia Iscisa - OsteologiaDocumento31 páginasAula de Anatomia Iscisa - OsteologiaValige Pedro Valige FariaAinda não há avaliações
- ?cript ?oku He?o ?cadem??Documento46 páginas?cript ?oku He?o ?cadem??isabelaprado.belaAinda não há avaliações
- Glândulas endócrinas, corpos sutis e desenvolvimento espiritualDocumento24 páginasGlândulas endócrinas, corpos sutis e desenvolvimento espiritualscootscootAinda não há avaliações
- Micologia: Estudo dos fungosDocumento48 páginasMicologia: Estudo dos fungosWalter MoreiraAinda não há avaliações
- Cronograma Enem 2023Documento42 páginasCronograma Enem 2023Ana Carolina Soares da SilvaAinda não há avaliações
- Ficha 2 - SinteseproteicaDocumento2 páginasFicha 2 - SinteseproteicaClaudia QueirosAinda não há avaliações
- Abdome Anatomia FisiologiaDocumento23 páginasAbdome Anatomia FisiologiaAdriele Taiane0% (1)
- PQ 009 - Controle Interno Da Qualidade - CIQDocumento6 páginasPQ 009 - Controle Interno Da Qualidade - CIQaline telles100% (1)
- 100 Crencas PossibilitadorasDocumento6 páginas100 Crencas PossibilitadorasRafael Durante100% (5)
- Teste Ciências Naturais 8º Ano (Mentes Brilhantes)Documento3 páginasTeste Ciências Naturais 8º Ano (Mentes Brilhantes)Paula Costa50% (2)
- Manual de DST - Corrimentos VaginaisDocumento7 páginasManual de DST - Corrimentos VaginaistiagobcsAinda não há avaliações
- Manejo de Pastagens para Ovinos PDFDocumento41 páginasManejo de Pastagens para Ovinos PDFCassiano StefaneloAinda não há avaliações
- Biologia Fisiologia Vegetal GabaritoDocumento59 páginasBiologia Fisiologia Vegetal GabaritoCecílio PurcinoAinda não há avaliações
- Histologia AnimalDocumento8 páginasHistologia Animalcb_penatrujilloAinda não há avaliações
- Neurociência guia rápidoDocumento42 páginasNeurociência guia rápidoMétodo Fluir100% (1)
- Apostila - Módulo 1 - EndócrinoDocumento25 páginasApostila - Módulo 1 - EndócrinolorenaAinda não há avaliações
- O Princípio de Reciprocidade ( Cap. 5 de As Estruturas Elementares Do Parentesco)Documento8 páginasO Princípio de Reciprocidade ( Cap. 5 de As Estruturas Elementares Do Parentesco)Danilo FrimostAinda não há avaliações
- NecrosesDocumento53 páginasNecrosesTadeu SilvaAinda não há avaliações
- Heranca MultifatorialDocumento16 páginasHeranca MultifatorialsabrinabmoreiraAinda não há avaliações
- Revistaecologia 3 Art 3 3Documento10 páginasRevistaecologia 3 Art 3 3Douglas VianaAinda não há avaliações
- Eletrofisiologia do coração: principais conceitosDocumento26 páginasEletrofisiologia do coração: principais conceitosArthur BrasilAinda não há avaliações
- Ondas CurtasDocumento14 páginasOndas CurtasOri CrelierAinda não há avaliações
- Anestésicos e tranquilizantesDocumento38 páginasAnestésicos e tranquilizantesIsis PrizonAinda não há avaliações
- BARRETO, Tobias. Obras Completas 07 - Estudos de Direito - Vol. 2Documento269 páginasBARRETO, Tobias. Obras Completas 07 - Estudos de Direito - Vol. 2Daniel Cruz de SouzaAinda não há avaliações
- Classificacao Das Doencas PeriodontaisDocumento8 páginasClassificacao Das Doencas PeriodontaisMayanna VianaAinda não há avaliações
- Aula 7 - Ginástica LaboralDocumento7 páginasAula 7 - Ginástica LaboralTiago RibeiroAinda não há avaliações