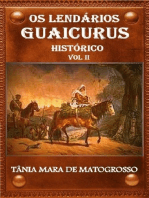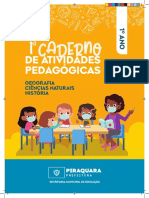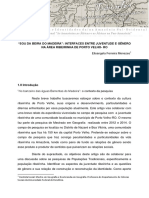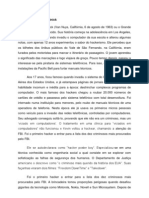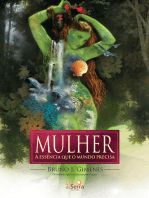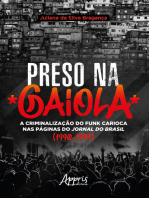Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
VIEIRA, M. L. P. L. F. WALTER, R. G. M. - A Territorialidade e A Construção Da Memória e Da Identidade Ameríndias
Enviado por
andersonfrasaoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
VIEIRA, M. L. P. L. F. WALTER, R. G. M. - A Territorialidade e A Construção Da Memória e Da Identidade Ameríndias
Enviado por
andersonfrasaoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A TERRITORIALIDADE E A CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA E DA IDENTIDADE
AMERÍNDIAS
Maria Luiza Vieira1
Roland Walter2
RESUMO: Este artigo apresenta um estudo comparativo de caráter interdisciplinar e multiétnico
que visa tecer traços identitários convergentes entre povos ameríndios, no âmbito da teoria pós-
colonial. A fim de compreender o papel da geografia e da territorialidade na construção da
memória e da identidade ameríndias, analisamos alguns relatos históricos e antropológicos e
textos literários de autoria de Daniel Munduruku (Munduruku/Brasil), Linda Hogan
(Chicasaw/Estados Unidos) e Jeannette Armstrong (Okanagan/Canadá). O trabalho divide-se em
duas etapas: a primeira, que abarca os fundamentos teóricos e os ilustra através de narrativas
históricas, e a segunda, que consiste na análise literária das obras selecionadas.
PALAVRAS-CHAVE: Literatura ameríndia. Pós-colonial. Identidade cultural. Geografia.
“É difícil mostrar o quanto o nosso orgulho, nossa cultura e nossas vidas têm suas raízes
na terra. Não é fácil explicar que proteger e tentar recuperar o controle sobre ela é, na verdade, a
maneira de protegermos nossas próprias vidas como índios”3 (ARMSTRONG, 1992, p. 147).
Com efeito, as culturas indígenas têm a sua identidade profundamente enraizada na terra. Um
exemplo marcante disso é o que ficou conhecido no Brasil como suicídio coletivo dos Guarani-
Kaiowá, anunciado em 2012 em carta aberta4, como pode ser verificado no trecho abaixo:
Nós já avaliamos a nossa situação atual e concluímos que vamos morrer todos mesmo
em pouco tempo, não temos e nem teremos perspectiva de vida digna e justa tanto aqui
na margem do rio quanto longe daqui. Estamos aqui acampados a 50 metros do rio Hovy
onde já ocorreram quatro mortes, sendo duas por meio de suicídio e duas em decorrência
de espancamento e tortura de pistoleiros das fazendas. [...]
De fato, sabemos muito bem que no centro desse nosso território antigo estão enterrados
vários os nossos avôs, avós, bisavôs e bisavós, ali estão os cemitérios de todos nossos
antepassados. Cientes desse fato histórico, nós já vamos e queremos ser mortos e
1
Graduada em Letras pela UFPE e Mestranda em Teoria da Literatura na mesma instituição.
2
Pós-doutor em Literatura, é Professor do programa de Letras da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).
3
Em tradução livre, “It’s hard to show just how much our pride, our culture and our lives all have their roots in the
land. It’s not easy to explain that to protect and attempt to regain control over it is really the way to protect our own
lives as Indian people.”
4
A comunidade Guarani-Kaiowá, habitante do território Pyelito Kue/Mbarakay (MS), publicou uma emocionante
carta aberta às autoridades brasileiras solicitando o seu imediato extermínio, no lugar de retirá-los da sua terra, como
propunha o processo nº 0000032-87.2012.4.03.6006, do dia 29 de setembro de 2012.
Revista Língua & Literatura FW v. 16 n. 26 p. 59-74 Recebido em: 31 mar. 2014.
Aprovado em: 04 jun. 2014.
enterrados junto aos nossos antepassados aqui mesmo onde estamos hoje, por isso,
pedimos ao Governo e Justiça Federal para não decretar a ordem de despejo/expulsão,
mas solicitamos para decretar a nossa morte coletiva e para enterrar nós todos aqui.
Pedimos, de uma vez por todas, para decretar a nossa dizimação e extinção total, além de
enviar vários tratores para cavar um grande buraco para jogar e enterrar os nossos
corpos. Esse é nosso pedido aos juízes federais. Já aguardamos esta decisão da Justiça
Federal. Decretem a nossa morte coletiva Guarani e Kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay e
enterrem-nos aqui. (CARTA, 2012)
Face à perseguição endossada pelos empresários ruralistas da região e à decisão judicial
de expulsá-los da terra em que vivem, os Guarani-Kaiowá declaram preferir morrer a terem de se
curvar diante da imposição de lhe tirarem do local ao qual pertencem, pois
tirar uma pessoa como se fosse um animal para um lugar que não lhe serve, que não
conhece, isso não é qualidade de vida. Viver bem é permanecer na mesma casa onde eu
nasci. A terra nos pertence, temos que cuidar dela, da mesma forma que a madeira, o rio
e o capim que os porquinhos, as ovelhas e os cabritos comem. [...] não vou amolecer,
[...] meu futuro será sempre o mesmo, não vou mudá-lo. Morrerei na minha terra.
(PORANTIM apud GRAÚNA, 2013, p. 36)
Qualquer semelhança entre o texto acima, escrito pelo índio Mapuche (Chile) Nicolasa
Quintreman, e a carta redigida pelos Guarani-Kaiowá não é mera coincidência. O fato é que,
guardadas as inúmeras peculiaridades e especificidades que cada etnia indígena carrega, pode-se
afirmar que elas possuem um importante traço em comum, que é o papel que a geografia 5
representa para eles enquanto povo, pois, como explica Gráuna, há uma confluência interétnica
natural entre esses povos, “pois, sendo filhos da terra, trabalham para manter o equilíbrio da Mãe-
Terra” (GRAÚNA, 2013, p. 61) e, “apesar de que as nossas tradições são tão diversas quanto as
tribos que as praticam e as vivem, elas são todas centradas na terra e na vida selvagem” 6
(ALLEN, 1992, p. 78). Destarte, partimos do pressuposto de que, para os povos indígenas aqui
observados, a terra representa a extensão dos próprios seres que nela habitam. Sendo assim, a
significação que é dada às invasões do homem ocidental em suas terras é bastante sui generis,
pois, para o índio, a destruição da terra é a destruição da vida como um todo.
“Há milhares de anos, a vocação enunciativa dos povos indígenas ecoa como sinal de
sobrevivência e continuará ecoando contra os conflitos gerados pela cultura dominante”
5
Tomemos emprestado de Walter o termo “geografia”, que abarca “paisagem/ natureza/ lugar/ espaço/ terra”
(WALTER, 2012, p. 139).
6
Em tradução livre, “For most indigenous societies the land is a unifying force – the land represents a home, a
livelihood, a religion”.
Revista Língua & Literatura| FW | v. 16 | n. 26 | p. 1-227| Ago. 2014 60
(GRAÚNA, 2013, p. 72). Assim sendo, o presente artigo visa verificar como as culturas
dominantes têm tentado apagar essas marcas das tradições autóctones nas Américas através de
práticas de desterritorialização, e como a resistência a esses deslocamentos, pautada na interface
geografia/identidade, tem se manifestado na literatura ameríndia contemporânea. Para tal fim,
será feito um estudo comparativo de caráter multiétnico, trazendo à discussão alguns relatos
históricos que dialogam com os textos ameríndios que serão aqui analisados.
1 O ÍNDIO E A TERRITORIALIDADE
“Você sabia que não existe nenhuma palavra na língua Sioux para isso? Possuir a terra.
Não existe em nenhuma língua nativa”. Retirado do filme Enterrem Meu Coração na Curva do
Rio (Bury My Heart at Wounded Knee), o diálogo supracitado ilustra uma questão um tanto
estranha ao Ocidente mas bastante recorrente em comunidades indígenas, a saber, a relação que
elas encerram com a geografia, pois, “para a maioria das sociedades indígenas, a terra é uma
força unificadora – a terra representa o lar, a sobrevivência, a religião” (DELORIA, 1985, p. 49).
Em outras palavras, a terra, para a maioria das tradições indígenas, não possui o valor de
território, se entendermos que este “tem suas origens na chamada geografia política, [e que ele] é
tradicionalmente associado às relações de poder que o constituem” (SAQUET; CANDIOTTO;
ALVES, 2010, p. 58).
Trata-se do caso Zo´é. Como se explicitou no Relatório de Identificação desta Terra
Indígena (Gallois & Havt, 1998). A noção zo´é de –koha [Território Indígena] traz
elementos importantes para entender sua concepção de “território”, embora não
corresponda a uma tradução deste conceito. –Koha possui uma abrangência mais ampla,
no sentido de “modo de vida”, “bem viver” ou “qualidade de vida”, o que significa que
as condições ambientais, ecológicas e materiais são componentes obrigatórios na
definição. (GALLOIS, 2004, p. 1)
Foi o caso também dos primeiros momentos da colonização do Brasil, pois, como assinala
Raffestin (2010), quando os portugueses chegaram ao solo brasileiro, verificaram que o território
não era delimitado, visto que esse conceito não fora construído pelos nativos. A história tem se
repetido incessantemente, com alguns casos interessantes. Em 1878, no Paraná, como elucida
Cunha (2012), os índios de Garapuava demonstraram o seu apego ao seu território tradicional
quando, para a surpresa do governo central, recusaram-se a receber as terras que lhes foram
Revista Língua & Literatura| FW | v. 16 | n. 26 | p. 1-227| Ago. 2014 61
ofertadas, preferindo lutar pela recuperação das suas, que tinham sido ocupadas por duas
fazendas.
Porém, embora seja verdade que a maioria dos povos nativos das Américas comunga de
uma relação com a terra na qual está inscrita a sua própria identidade, sabemos que cada
comunidade aborígene tem sua forma de organização social, onde está inserida a noção de
territorialidade, como demonstram inúmeros estudos antropológicos, como os de Gallois (2004),
Carneiro da Cunha (2012) entre outros. Logo, faz-se necessário ressaltar que optamos por fazer,
no amplo cenário das culturas ameríndias, um recorte dos casos em que a hipótese aqui levantada
se comprova, não deixando de considerar, todavia, que há uma grande diversidade de práticas
sociais – e, por conseguinte, territoriais – entre os incontáveis povos indígenas que habitam as
Américas que podem, porventura, divergir da tese aqui defendida.
Feita essa ressalva, a fim de evitar uma possível generalização homogeneizante das
culturas ameríndias, dar-se-á continuidade à discussão aqui iniciada. Já foi dito que, para muitos
povos tradicionais, a terra não representa território em seu sentido político. Mas o que fazer então
quando o espaço desses povos é invadido arbitrariamente, sendo-lhes impostos novos costumes e
línguas, e ameaçando a vida que tentavam manter naquela terra? Se, mesmo diante do choque
cultural causado pela intromissão do Ocidente nas civilizações nativas da América, os índios
continuassem a desconhecer o conceito de territorialidade, isso seria altamente desastroso, pois,
“assim como nenhum de nós está fora ou além da geografia, da mesma forma nenhum de nós está
totalmente ausente da luta pela geografia. Essa luta é complexa e interessante porque não se
restringe a soldados e canhões, abrangendo também ideias, formas, imagens e representações”
(SAID, 2011, p. 39). É o que acontece desde a invasão das Américas no século XV até as atuais
políticas de desterritorialização, em cujo bojo está o cerne da ideologia do colonialismo, que
busca “ocupar um novo chão, explorar os seus bens, submeter os seus naturais” (BOSI, 1999, p.
15). No caso da colonização do Brasil, essa intenção foi declarada desde os primeiros momentos
da chegada dos portugueses, como pode ser verificado na Carta de Pero Vaz de Caminha,
endereçada ao então rei de Portugal, Dom Manuel I:
Parece-me gente de tal inocência que, se homem os entendesse e eles a nós, seriam logo
cristãos, porque eles, segundo parece, não têm, nem entendem em nenhuma crença. E
portanto, se os degredados, que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os
entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de
Revista Língua & Literatura| FW | v. 16 | n. 26 | p. 1-227| Ago. 2014 62
fazer cristãos e crer em nossa santa fé, à qual praza a Nosso Senhor que os traga, porque,
certo, esta gente é boa e de boa simplicidade. E imprimir-se-á ligeiramente neles
qualquer cunho, que lhes quiserem dar. E pois Nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e
bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa.
Portanto Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar a santa fé católica, deve cuidar da
sua salvação. E prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. Eles não lavram,
nem criam. Não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem
qualquer outra alimária, que costumada seja ao viver dos homens. (CARTA de Pero
Vaz de Caminha, p. 13, grifos nossos)
É evidente que o autor da Carta e os outros tripulantes da expedição portuguesa
procuraram se informar acerca das práticas sociais dos nativos da terra de Vera Cruz, o que os
levou a um conhecimento um tanto superficial sobre a gente que habitava o local. É que “a
cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes
usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das coisas” (BENEDICT, 1972, apud
LARAIA, 2009, p. 67). Com efeito, o que se depreende desse relato é, primeiramente, a visão
eurocêntrica que está impregnada nas lentes e nas linhas de Caminha. Não encontrando ele
semelhança qualquer entre seus costumes e aqueles dos povos que encontraram no Monte Pascoal
(BA) e tendo “uma visão desencontrada das coisas”, o escrivão da frota cabralina logo concluiu
que eles eram uma “gente bestial, de pouco saber e por isso tão esquiva” (p. 10), ignorando as
suas formas de organização social, que fugiam à lógica europeia. E isso justificaria, a seu ver, a
imposição dos seus próprios costumes e crenças e a subjugação dos nativos do Brasil. Caminha
deixa bastante claro, na Carta, que não havia interesse algum na cultura dos moradores do Novo
Mundo, muito pelo contrário: eles tinham de ser “salvos” pela cruz cristã – e “amansados” pela
espada portuguesa.
O mesmo aconteceu na colonização espanhola no Chile, conforme aponta Boccara (2007)
ao escrever sobre a ausência de um poder político centralizado entre os Mapuches e sobre o fato
de que “os grupos não conheciam a figura onipotente e onisciente do deus cristão e, por
conseguinte, os espanhóis pensavam, seus membros não distinguiam o bem do mal, o bom do
mau, o justo do injusto” (BOCCARA, 2007, p. 63). Em ambos os casos, ocorreram diversas lutas
contra a colonização, até porque, como ensina Edward Said, “em quase todos os lugares do
mundo não europeu a chegada do homem branco gerou algum tipo de resistência” (SAID, 2011,
p. 10).
Do fatídico “encontro” de culturas no Brasil, por sua vez, resulta um dos fatos mais
vergonhosos da história brasileira: estima-se que havia, no Brasil quinhentista, milhões de
Revista Língua & Literatura| FW | v. 16 | n. 26 | p. 1-227| Ago. 2014 63
habitantes nativos, e hoje são apenas pouco mais de 800 mil índios que habitam o país, segundo a
antropóloga Manuela Carneiro da Cunha (2012). A autora apresenta, ainda, um panorama
histórico acerca dos direitos dos indígenas sobre as terras, mostrando, por exemplo, que o próprio
D. João VI reconhecia os direitos originários dos índios sobre as suas terras, ao declarar
“devolutas as terras conquistadas aos índios a quem havia declarado guerra justa” (CUNHA,
2012, p. 71). Mais adiante, Cunha relata que José Bonifácio reconhece os índios como “legítimos
senhores” (p. 72) das suas terras. No entanto, há um profundo abismo entre essas afirmações e o
que ocorreu de fato na nossa história, principalmente a partir do século XIX, quando a política de
desapropriação de terras indígenas se intensificou no Brasil. A “Lei das Terras”, de 1854, que
propunha a “concessão” – a própria ideia de “concessão” de terras é arbitrária, visto que os
nativos do Brasil deveriam ter, de fato, domínio sobre o seu território – de terras a índios, foi
constantemente burlada, conforme resume Cunha abaixo:
Na verdade, a Lei das Terras inaugura uma política agressiva em relação às terras das
aldeias: um mês após sua promulgação, uma decisão do Império manda incorporar aos
Próprios Nacionais as terras de aldeias de índios que “vivem dispersos e confundidos na
massa da população civilizada”. Ou seja, após ter durante um século favorecido o
estabelecimento de estranhos junto ou mesmo dentro das terras das aldeias, o governo
usa o duplo critério da existência de população não indígena e de uma aparente
assimilação para despojar as aldeias de suas terras. [...] encoraja-se o estabelecimento de
estranhos em sua vizinhança; concedem-se terras inalienáveis às aldeias, mas aforam-se
áreas dentro delas para o seu sustento; deportam-se aldeias e concentram-se grupos
distintos; a seguir, extinguem-se as aldeias a pretexto de que os índios se acham
“confundidos com a massa da população”; ignora-se o dispositivo de lei que atribui aos
índios a propriedade da terra das aldeias extintas e concedem-se-lhes apenas lote dentro
delas; revertem-se as áreas restantes ao Império e depois às províncias, que as repassam
aos municípios para que as vendam aos foreiros ou as utilizem para a criação de novos
centros de população. Cada passo é uma pequena burla, e o produto final, resultante
desses passos mesquinhos, é uma expropriação total. (CUNHA, 2012, p.79)
Como postula Alfredo Bosi, “o olho do colonizador não perdoou, ou mal tolerou, a
constituição do diferente e a sua sobrevivência” (BOSI, 1999, p. 62). O colonizador português
não aceitava os modos de vida que encontraram aqui: incomodava-lhe o fato de os índios
andarem nus. Incomodava-lhe a sua suposta “falta de ordem”, de cultura, e de religiosidade –
reduzida, pelos portugueses, ao Cristianismo. O índio incomodava o português. E hoje incomoda
o brasileiro. Parece-nos que o povo brasileiro aprendeu bem a ideologia do colonialismo, e, até
hoje, permitir que esses povos nativos tenham poder sobre a sua terra ainda é, para muitos,
inaceitável, como já foi dito aqui no caso dos Guarani-Kaiowá e como acontece em tantas outras
Revista Língua & Literatura| FW | v. 16 | n. 26 | p. 1-227| Ago. 2014 64
histórias no continente americano. O filme já aqui comentado, Enterrem Meu Coração na Curva
do Rio, é um bom exemplo disso. Ele conta a história do que ficou conhecido como Massacre de
Wounded Knee, que ocorreu na região da Dakota do Sul, nos Estados Unidos, em Dezembro de
1890. Os índios Lakota-Sioux, da reserva indígena de Pine Ridge, estavam organizando um ritual
de dança dos espíritos (Ghost Dance), pois Wovoka, uma entidade sagrada, iria vir ao encontro
daqueles que praticassem a dança e vivessem harmoniosamente, a fim de restaurar a paz na terra,
que estava fadada a perecer devido à ação do homem ocidental. Segundo a crença, a Terra iria
voltar ao seu estado aborígene, onde não haveria a intromissão dos brancos. Ao tomarem
conhecimento disso, as autoridades estadunidenses baniram a dança e, depois de algumas
investidas contra os Sioux, foram enviadas tropas até a reserva, no dia 29 de dezembro, onde o
chefe Big Foot acampava com aproximadamente 350 homens, mulheres e crianças, que
protestavam contra a proibição da sua prática religiosa. O conflito resultou na morte da maioria
dos índios que ali estavam, incluindo o seu líder, Big Foot, o que representou uma grande derrota
pra os Sioux. As cenas do massacre foram exibidas vívida e emocionantemente no filme de Yves
Simoneau, e refletem a intolerância do dominador com o diferente, o que é curioso, pois, no
filme, os soldados sentem-se ameaçados com a profecia de Wovoka, apesar de sempre terem
desdenhado das crenças indígenas. De fato,
“os direitos dos povos indígenas de expressar o seu amor à terra, de viver seus costumes,
sua organização social, suas línguas e de manifestar suas crenças nunca foram
considerados de fato. Mas, apesar da intromissão dos valores dominantes, o jeito de ser e
de viver dos povos indígenas vence o tempo” (GRAÚNA, 2013, p. 15)
É nesse cenário que surge a crítica pós-colonial, definida por Homi Bhabha como
“testemunha das forças desiguais e irregulares de representação cultural envolvidas na
competição pela autoridade política e social dentro da ordem do mundo moderno” (BHABHA,
2013, p. 275) e que vem na contramão do colonialismo, concedendo voz e vez para povos
silenciados há séculos. Conforme explica Ella Shohat (1992), o pós-colonial não remete ao final
do colonialismo: ele dá conta das experiências diaspóricas de povos do Terceiro Mundo em
centros metropolitanos, bem como os sincretismos culturais inscritos no encontro do Primeiro
com o Terceiro Mundo. Ela esclarece, ainda, que o prefixo “pós”, de pós-colonial, antes de
representar uma ruptura com o passado, significa um “ir além” desse colonialismo, ou seja, de
Revista Língua & Literatura| FW | v. 16 | n. 26 | p. 1-227| Ago. 2014 65
novas práticas de colonialidade e uma consequente tentativa de superação e resistência a essas
práticas, que perduram até os dias atuais. Como explana brilhantemente Said,
“os escritores pós-imperiais do Terceiro Mundo, portanto, trazem dentro de si o passado
– como cicatrizes de feridas humilhantes, como uma instigação a práticas diferentes,
como visões potencialmente revistas do passado que tendem para um futuro pós-
colonial, como experiências urgentemente reinterpretáveis e revivíveis, em que o nativo
outrora silencioso fala e age em território tomado do colonizador, como parte de um
movimento geral de resistência”. (SAID, 2011, p. 332)
Assim sendo, as obras literárias produzidas sob a ótica do pós-colonialismo buscam
recontar a sua história nos seus próprios termos, indo de encontro às narrativas oficiais,
tradicionalmente feitas a partir da perspectiva do dominador e que, de acordo com Aleida
Assmann (2011), não configuram uma asseguração identitária. A literatura que interessa a este
artigo parte de relatos que eternizam a memória oriunda dos conflitos instaurados pelo
colonialismo e pelo pós-colonialismo, visto que a situação do índio “não está desapartada da sua
escrita. A sua história de vida (auto-história) configura-se como um dos elementos
intensificadores da sua crítica-escritura, levando em conta a história do seu povo” (GRAÚNA,
2013, p. 20). E, devido ao fato de as comunidades indígenas possuírem uma forte tradição oral,
faz-se necessário ressaltar a importância daquilo que Maurice Halbwachs (2006) chama de
“memória coletiva”, que pode ser definida, em linhas gerais, como uma memória construída e
compartilhada por pessoas que viveram uma mesma situação, e cuja estabilidade “está vinculada
de maneira direta à composição de subsistência do grupo” (ASSMANN, 2011, p. 144).
2 O AMERÍNDIO E A LITERATURA DE RESISTÊNCIA
“A literatura indígena contemporânea é um lugar utópico (de sobrevivência), uma variante
do épico tecido pela oralidade; um lugar de confluência de vozes silenciadas e exiladas (escritas)
ao longo dos mais de 500 anos de colonização” (GRAÚNA, 2013, p. 15). Mostrar como essas
vozes outrora exiladas comunicam a sua formação identitária diante do conceito de
territorialidade é o que será feito a partir de agora, através da análise de Meu vô Apolinário: um
mergulho no rio da minha memória, de Daniel Munduruku (2001); Slash, da Okanagan (Canadá)
Jeannette Armstrong (1992); e Mean Spirit, da Chicasaw (Estados Unidos) Linda Hogan (1990).
Revista Língua & Literatura| FW | v. 16 | n. 26 | p. 1-227| Ago. 2014 66
Você viu o rio, olhou para as águas. O que eles lhe ensinam? A paciência e a
perseverança. Paciência de seguir o próprio caminho de forma constante, sem nunca
apressar seu curso; perseverança para ultrapassar todos os obstáculos que surgirem no
caminho. Ele sabe aonde quer chegar e sabe que vai chegar, não importa o que tenha de
fazer para isso. Ele sabe que o destino dele é unir-se ao grande rio Tapajós, dono de
todos os rios. Temos de ser como o rio, meu neto. Temos de ter paciência e coragem.
Caminhar lentamente, mas sem parar. Temos de acreditar que somos parte deste rio e
que nossa vida vai se juntando a ele quanto já tivermos partido desta vida. Temos de
acreditar que somos apenas um fio na grande teia da vida, mas um fio importante, sem o
qual a teia desmorona. Quando você estiver com esses pensamentos outra vez, venha
para cá ouvir o rio. (MUNDURUKU, 2001, p. 31)
Esse é um dos ensinamentos de Apolinário, o avô do personagem central do livro de
Munduruku, que tentava fazer com que seu neto, que morava na cidade, “lugar de muito barulho
e maldade” (p. 30), compreendesse a significação dos costumes da aldeia. Depois desse momento
no rio, retratado de forma encantadora pelo autor, o protagonista, que havia desvalorizado a vida
na aldeia e superestimado os costumes da cidade, voltou a desfrutar da convivência na aldeia.
Mais adiante, o seu avô diz algo comungado por outros ameríndios, deixando uma importante
mensagem para o neto, pautada nos princípios animistas da sua cultura, quando afirma que o
“nosso mundo está vivo. A terra está viva. Os rios, o fogo, o vento, as árvores, os pássaros, os
animais e as pedras, estão todos vivos. São todos nossos parentes. Quem destrói a terra destrói a
si mesmo. Quem não reverencia os seres da natureza não merece viver” (MUNDURUKU, 2001,
p. 33).
O mesmo pode ser observado no trecho a seguir: “Inquietações da terra, ele os disse,
ocasionam inquietações da vida e do sono”7 (HOGAN, 1990, p. 39). Essa foi a resposta que
Michael Horse, personagem do romance Mean Spirit, de Linda Hogan, deu às pessoas que o
consultavam sobre os pesadelos que estavam tendo constantemente. Horse era, para a tribo
Osage, uma espécie de conselheiro, que previa acontecimentos e interpretava sonhos. Situados
numa região do estado de Oklahoma rica em petróleo, os índios Osage estavam sofrendo
diariamente as consequências da extração do mineral, como pode ser visto no seguinte trecho:
A água desapareceu para sempre daquela terra, as árvores mortas, e a grama, uma vez
alta e rica, estava preta, queimada. Os carros passavam por essa vista horrível, e, não
muito longe, passavam por outros campos de petróleo, onde bombas, alimentadas com
diesel, trabalhavam dia e noite. Esses campos machucados eram barulhentos e escuros.
7
Em tradução livre, “disturbances of earth, he told them, made for disturbances of life and sleep”.
Revista Língua & Literatura| FW | v. 16 | n. 26 | p. 1-227| Ago. 2014 67
A terra se tornara preta, da cor do óleo. Chamas azuis ergueram-se e rugiram como
tochas de gás em combustão. A terra sangrava óleo.8 (HOGAN, 1990, p. 53, grifos
nossos)
A descoberta de petróleo em Oklahoma, em 1922, além de resultar na destruição da terra
– e consequente destruição da vida do povo como um todo, que dependia da agricultura e da
pecuária –, deu causa que os índios também sofressem uma perseguição sistemática por parte do
governo estadunidense, que visava tomar a terra da população nativa da região para explorá-la
livremente, como pode ser observado em Mean Spirit. Os Osage lutaram, o quanto puderam,
contra a ocupação das terras que eram suas por direito, contra o mundo branco movido a
dinheiro, que parecia não compreender a importância da manutenção de uma vida harmônica e
sustentável na natureza.
Há outra bela passagem do livro de Linda Hogan, que ilustra o papel da memória coletiva
na construção da identidade da personagem Lettie Graycloud através de uma emocionante
narração. Depois da misteriosa e inexplicada morte de seu namorado dentro de um presídio e da
morte de outros familiares de Lettie, ela faz a seguinte reflexão:
Enquanto lá sentava, na grama da água nascente, sentindo o cheiro do solo erodido, ela
estudou as suas mãos. Sua pele estava seca e fina. Ela pensou sobre a história das suas
mãos. Elas eram como as da sua avó, era feita delas. A mãe de Belle. A sua avó, que
veio para Oklahoma através da Trilha das Lágrimas 9. Soldados haviam forçado as
pessoas para o oeste, para longe da sua terra natal em Mississippi. Eles foram
violentados e vencidos, forçados a desistir de tudo que havia sido suas vidas, até que eles
não pensavam em nada além de como continuar a preservar a sua raça ferida, sua tribo
devastada. Ao longo da trilha, quando mulheres caíam e choravam a morte de crianças
assassinadas pelos soldados, os outros a levantavam, a traziam para junto deles e diziam
“Temos que continuar. Dê um passo à frente. Ande adiante conosco, irmã”. E então
Lettie olhou para as suas mãos, e elas eram as mãos delas.10 (HOGAN, 1990, p. 210,
grifo nosso)
8
Em tradução livre, “the water was gone from that land forever, the trees dead, and the grass, once long and rich,
was burned black. The cars passed by this ugly sight, and not far from there, they passed another oil field where
pumps, fueled by diesel, worked day and night. These bruised fields were noisy and dark. The earth had turned oily
black. Blue flames rose up and roared like torches of burning gas. The earth bled oil”.
9
A Trilha das Lágrimas é o nome dado às migrações forçadas de povos indígenas para o estado de Oklahoma, por
volta do ano de 1831.
10
Em tradução livre, “As she sat there, in the spring grass, smelling the turned soil, she studied her hands. Her skin
was dry and thin. She thought of the history of her hands. They were like her grandmother’s hands, were made up of
them. Belle’s mother. Her grandmother who had come to Oklahoma over the Trail of Tears. Soldiers had forced the
line of people west, out from their Mississippi homeland. They were beaten and lost, forced to give up everything
that had been their lives until they thought of nothing more than how to go on, to preserve their wounded race, their
broken tribe. Along that trail, when women would fall and weep over a child who had been killed by the soldiers, the
others lifted her up, took her along with them, saying “We have to continue. Step on. Walk farther along with us,
sister.” And so Lettie looked at her hands and they were their hands.”
Revista Língua & Literatura| FW | v. 16 | n. 26 | p. 1-227| Ago. 2014 68
O momento acima é um dos mais tocantes do romance de Hogan, pois pinta com cores
vívidas todo o sofrimento pelo qual os Osage passaram na luta pela sua geografia.
Em Slash, de Jeannette Armstrong, a relação do homem com a geografia chegou ao
extremo de salvar a vida do protagonista da trama, Tommy, que se encontrava preso por um
crime que não cometera. Ele, que estava planejando dar fim à sua vida, começou a se recordar
dos momentos que passou em meio ao seu povo e em meio à natureza selvagem, e teve sua alma
renovada através dessa rememoração, afirmando que “depois disso eu fiquei bem. O aperto no
meu peito parecia ter desaparecido. Acho que posso dizer que eu me senti um pouco livre, apesar
de estar na prisão”11 (ARMSTRONG, 1992, p. 68). Depois de preso, Tommy começou a se
envolver na luta pelos direitos dos indígenas na América do Norte, viajando pelo Canadá e
Estados Unidos para participar de manifestações e reuniões do American Indian Movement
(AIM), que exerce uma forte militância até hoje. Em uma dessas ocasiões, estando ele afastado
da sua família há já algum tempo, Tommy sentiu-se muito mal, e concluiu que precisava retornar
à sua terra, onde estava havendo a tradicional dança de inverno, para que pudesse voltar a se
sentir bem. Ainda no início do livro, antes das reviravoltas pelas quais Tommy passou, as
palavras do seu avô já ecoavam a necessidade de preservação da sua identidade cultural:
Orgulhe-se de ser índio. Não se preocupe com suas roupas ou com sua aparência ou com
a forma como você fala. Nós somos o povo que tem o direito de estar aqui. Não estamos
invadindo de algum lugar e forçando uma ocupação. Lembre-se disso toda vez que
algum deles disser algo ruim para você. Você sabe quem você é.12 (ARMSTRONG,
1992, p. 23)
O livro de Armstrong levanta a questão da identidade tribal, presente ao longo de todo o
livro, e reafirmada no final da trama, quando Tommy afirmou ter reconhecido que ele nunca
poderia estar sozinho, pois carregava consigo o peso do seu povo. A autora nos apresenta, ainda,
uma identidade coletiva que ultrapassa o tribal, no momento em que índios de vários povos da
América do Norte se unem contra a dominação dos governos e em prol dos seus direitos, quando
11
Em tradução livre, “After that I was okay. The tightness in my chest seemed to have gone. I guess you could say I
felt free, kind of, even though I was in prision”.
12
Em tradução livre, “Be proud that you’re Indian. Don’t worry about your clothes or your looks or how you talk.
We are the people who have every right to be here. We ain’t sneaking in from somewhere and pushing our way in.
Remember that everytime one of them says anything bad to you. You know who you are.”
Revista Língua & Literatura| FW | v. 16 | n. 26 | p. 1-227| Ago. 2014 69
o protagonista afirma que “um forte sentimento de união persistia em meio às pessoas. Ninguém
questionava a qual tribo a pessoa pertencia; todos eram índios e isso era suficiente”13
(ARMSTRONG, 1992, p. 181).
A identidade grupal presente em Slash, além de representar a coletividade dos povos
indígenas, representa, também, a resistência cultural dos índios das Américas. Expulsos das suas
terras, humilhados, negligenciados e perseguidos, os remanescentes dos povos ameríndios
encontraram na resistência cultural a sua única forma de sobrevivência. Jeanette Armstrong
(1992) nos mostra que o governo – no caso, o Canadense, mas isso também foi verdade nos
Estados Unidos e no Brasil, visto que as políticas em todo o continente americano buscaram o
mesmo objetivo – deu apenas duas opções aos indígenas: assimilação ou exclusão – que se dava
na forma de desapropriação, prisão, ou morte –, o que os levou a buscar na resistência uma
terceira opção. Como muitos ameríndios encontraram no álcool e nas drogas a fuga da sua dura
realidade e muitos outros sofriam puramente de uma depressão profunda, começaram a surgir
locais que ficaram conhecidos como “survival schools” (ou “escolas de sobrevivência”, em
português), que eram uma espécie de retiro espiritual, onde se procurava a paz interior através do
retorno à vida simples e tradicional dos índios e da manutenção da cultura indígena. Após um ano
muito difícil, Tommy, o protagonista, foi levado a um desses locais por um ameríndio que atuava
como conselheiro do lugar. Diariamente, ocorriam reuniões nas quais todos conversavam sobre
como era difícil ser índio em meio à invasão do mundo ocidental, e sobre os conceitos centrais
das culturas indígenas, baseados na premissa de que a única maneira de proteger a cultura é
praticando-a – o que corrobora com o pensamento de Bosi, para o qual a cultura “é o conjunto
das práticas, das técnicas, dos símbolos e dos valores que se devem transmitir às novas gerações
para garantir a reprodução de um estado de coexistência social” (BOSI, 1999, p.16). Pra-cwa, o
avô de Tommy, explica que os índios esqueceram, por muito tempo, que eles eram um povo, que
tinham as suas leis concedidas pelo Criador, e não por um governo qualquer. Ele disse, também,
que, apesar de eles terem perdido a batalha contra o governo, eles haviam ganhado algo muito
maior, que fora a volta do seu povo para os velhos costumes, o retorno ao pensamento
tradicional.
13
Em tradução livre, “A strong feeling of unity persisted among the people. Nobody questioned which Band or
which Tribe a person belonged to; everybody was Indian and that was good enough”.
Revista Língua & Literatura| FW | v. 16 | n. 26 | p. 1-227| Ago. 2014 70
Nós temos assistido com repulsa à deterioração dos lagos desde então. Para nós, toda a
ideia de colocar merda nos lagos, rios ou córregos é não somente estúpido, mas um crime.
Sabe, para nós, a água é sagrada. Nós todos dependemos dela. Sabemos que alguém ou
alguma coisa precisa beber dessa água para viver. Até os animais sabem disso.
(ARMSTRONG, 1992, p. 215) 14
Fica evidente, a partir da leitura dos textos literários e históricos aqui analisados, que a
significação que é dada pelos indígenas à geografia extrapola os limites do pensamento ocidental.
Para os ameríndios, a destruição da terra e os deslocamentos forçados das comunidades
aborígenes causam danos não só no tocante à vida prática dessas sociedades, mas chegam
também a ferir a própria identidade e o próprio espírito dos envolvidos nesse embate. A luta pela
geografia, na qual eles foram forçados a entrar, os marcou com cicatrizes irreparáveis, que são
traduzidas na literatura em belas obras como as de Munduruku, Hogan e Armstrong, e que
chamam a atenção do leitor para a causa indígena. Muitos povos aborígenes já foram dizimados
da América desde a sua invasão no século XV, muitas culturas foram soterradas, muitas vozes
silenciadas, muito da natureza já foi destruído. É preciso que as civilizações ocidentais, no lugar
de travarem batalhas contra essas culturas milenares, aprendam com elas um modo de vida mais
sustentável e que permita a convivência com o diferente. Por essa razão, a disseminação da
literatura ameríndia faz-se extremamente necessária, visto que ela traz à tona questões
importantes para a humanidade como um todo. É munido de esperança no potencial dessa
literatura que esse artigo se faz possível. Esperamos que, de alguma forma, contribuamos para a
construção de novos horizontes.
Parem de podar as minhas folhas e tirar a minha enxada
Basta de afogar as minhas crenças e torar minha raiz
Cessem de arrancar os meus pulmões e sufocar minha razão
Chega de matar minha cantigas e calar a minha voz.
Não se seca a raiz de quem tem sementes
Espalhadas pela terra pra brotar.
Não se apaga dos avós _ rica memória
Veia ancestral: rituais pra se lembrar
Não se aparam largas asas
Que o céu é liberdade
E a fé é encontrá-la.
Rogai por nós, meu pai - Xamã
Pra que o espírito ruim da mata
14
Em tradução livre, “We have been watching with disgust the lakes get worse since then. To us, the whole idea of
putting shit into the lakes, rivers or streams is not only stupid, but a crime. You see, to us, the water is sacred. We all
depend on it. We know somebody or something needs to drink from that water to live. Even the animals know this.”
Revista Língua & Literatura| FW | v. 16 | n. 26 | p. 1-227| Ago. 2014 71
Não provoque a fraqueza, a miséria e a morte.
Rogai por nós _ terra nossa mãe
Pra que essas roupas rotas
E esses homens maus
Se acabem ao toque dos maracás.
Afastai-nos das desgraças, da cachaça e da discórdia,
Ajudai a unidade entre as nações.
Alumiai homens, mulheres e crianças,
Apagai entre os fortes a inveja e a ingratidão.
Dai-nos a luz, fé a vida nas pajelanças,
Evitai, ó Tupã, a violência e a matança.
Num lugar sagrado junto ao igarapé
Nas noites de luas cheia , ó Marçal, chamai
Os espíritos das rochas pra dançarmos o Toré.
Trazei-nos nas festas da mandioca e pajés
Uma resistência de vida
Após bebermos nossa chicha com fé.
Rogai por nós, ave-dos céus
Pra que venham onças, caititus, siriemas e capivaras
Cingir rios Juruena, São Francisco e Paraná.
Cingir até os mares do Atlântico
Porque pacíficos somos , no entanto.
Mostrai nosso caminho feito boto
Alumiai pro futuro nossa estrela
Ajudai a tocar as flautas mágicas
Pra vos cantar uma cantiga de oferenda
Ou dançar num ritual Iamaká.
Rogai por nós, Ave-Xamã
No Nordeste, no ul toda a manhã
No Amazonas, agreste ou no coração da cunhã.
Rogai por nós, araras , pintados ou tatus
Vinde em nosso encontro
Meu Deus _ Nhendiru!
Fazei feliz nossa mintã
Que de barrigas índias vão renascer.
Dai-nos cada dia a esperança Porque só pedimos terra e paz
Pra nossas pobres- Essas ricas crianças.
(POTIGUARA)
TERRITORIALITY AND AMERINDIAN MEMORY AND IDENTITY
CONSTRUCTION
ABSTRACT: This paper presents an interdisciplinary, multi-ethnic and comparative study that
aims to trace similar identity marks among American Indians, within the context of post-colonial
studies. A few texts were analyzed in order to comprehend the role that geography and
territoriality play in the construction of the Native memory and identity, such as historical and
anthropological accounts, as well as literary texts written by Daniel Munduruku
(Munduruku/Brazil), Linda Hogan (Chicasaw/USA) and Jeannette Armstrong
(Okanagan/Canada). This work is divided into two sections: the first covers the theoretical basis
and how the theory converges with the historical narratives; the second, on the other hand,
consists of the literary analysis of the selected texts.
Revista Língua & Literatura| FW | v. 16 | n. 26 | p. 1-227| Ago. 2014 72
KEY-WORDS: Native literature. Post-colonial. Cultural identity. Geography.
REFERÊNCIAS
ALLEN, Paula Gunn. The Sacred Hoop: Recovering the Feminine in American Indian
Traditions. Boston: Beacon Press, 1992.
ARMSTRONG, Jeannette. Slash. Pentiction, British Columbia: Theytus, 1992.
ASSMANN, Aleida. Espaços da recordação: formas e transformações da memória cultural.
Tradução de Paulo Soethe. Campinas: Editora da Unicamp, 2011.
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Tradução de Myriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima
Reis e Gláucia Renate Gonçalves. 2. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013.
BOCCARA, Guillaume. “Poder colonial e etnicidade no Chile: territorialização e reestruturação
entre os Mapuche da época colonial”. Revista Tempo, v. 12, n. 23, p. 56 – 72, 2007.
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
BURY My Heart at Wounded Knee. Direção: Yves Simoneau. [S.I.]: HBO, 2007. (133 min).
CARTA da comunidade Guarani-Kaiowá de Pyelito Kue/Mbarakay-Iguatemi-MS para o
Governo e Justiça do Brasil. Comissão Pastoral da Terra, Goiânia, 23 out. 2012. Disponível em:
<http://www.cptnacional.org.br/index.php/noticias/13-geral/1293-carta-da-comunidade-guarani-
kaiowa-de-pyelito-kue-mbarakay-iguatemi-ms-para-o-governo-e-justica-do-
brasil#sthash.QbwxPXt6.dpuf>. Acesso em: 20 mar. 2014.
CARTA de Pero Vaz de Caminha. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. São
Paulo. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=572>. Acesso
em: 24 mar. 2014.
CUNHA, Manuela Carneiro da. Índios no Brasil: História, direitos e cidadania. São Paulo:
Companhia das Letras, 2012.
DELORIA, Vine (Org.). American Indian Policy in the Twentieth Century. Norman: University
of Oklahoma Press, 1985.
GALLOIS, D. T. “Terras ocupadas? Territórios? Territorialidades?” In: ______.; RICARDO,
Fany (Org.). Terras Indígenas e Unidades de Conservação da Natureza: o desafio das
sobreposições territoriais. São Paulo: Instituto Socioambiental, 2004.
GRAÚNA, Graça. Contrapontos da literatura indígena contemporânea no Brasil. Belo
Horizonte: Mazza Edições, 2013.
Revista Língua & Literatura| FW | v. 16 | n. 26 | p. 1-227| Ago. 2014 73
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Traduzido por Beatriz Sidou. 2. ed. São Paulo:
Centauro, 2006.
HOGAN, Linda. Mean Spirit. Nova Iorque: Ballantine Books, 1990.
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 23. ed. Rio de Janeiro: Zahar,
2009.
LITTLE, P. “Territórios Sociais e Povos Tradicionais no Brasil: por uma antropologia da
territorialidade”. Brasília: Universidade de Brasília, 2002. (Série Antropologia nº 322).
MUNDURUKU, Daniel. Meu Vô Apolinário: um mergulho no rio da minha memória. São Paulo:
Studio Nobel, 2001.
RAFFESTIN, C. Uma concepção de território, territorialidade e paisagem. In: ______;
PEREIRA, S. R.; COSTA, B. P.; SOUZA, E; B. C. (Orgs.). Teorias e práticas espaço-temporais.
Expressão Popular: São Paulo, 2010.
POTIGUARA, Eliane. Oração pela libertação dos povos indígenas. Disponível em:
<http://elianepotiguara.blogspot.com.br/p/poesias.html>. Acesso em: 24 mar. 2014.
SAID, E. Cultura e Imperialismo. Tradução de Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das
Letras, 2011.
SAQUET, M. A.; CANDIOTTO, L. Z. P.; ALVES, A. F. Construindo uma concepção reticular e
histórica para estudos territoriais. In: ______.; PEREIRA, S. R.; COSTA, B. P.;
SOUZA, E; B. C. (Orgs.). Teorias e práticas espaço-temporais. Expressão Popular: São Paulo,
2010.
SHOHAT, E. “Notes on the Postcolonial”. Social Text, Duke University Press, n. 31/32, p. 99-
113, 1992.
WALTER, Roland. “Entre Gritos, Silêncios e Visões: Pós-Colonialismo, Ecologia e Literatura
Brasileira”. Revista Brasileira de Literatura Comparada, São Paulo, v. 1, n. 21, p. 137-168,
2012.
Revista Língua & Literatura| FW | v. 16 | n. 26 | p. 1-227| Ago. 2014 74
Você também pode gostar
- Comin - Direito Ao Territorio Direito A Vida 2022 WebDocumento36 páginasComin - Direito Ao Territorio Direito A Vida 2022 WebEmei Angela Tomazetti100% (1)
- O casamento entre o céu e a terra: Contos dos povos indígenas do BrasilNo EverandO casamento entre o céu e a terra: Contos dos povos indígenas do BrasilAinda não há avaliações
- O Eterno Retorno Do Encontro - Ailton KrenakDocumento6 páginasO Eterno Retorno Do Encontro - Ailton KrenakPaulo AlbuquerqueAinda não há avaliações
- De Povos Indígenas No BrasilDocumento14 páginasDe Povos Indígenas No BrasilRoberto SantanaAinda não há avaliações
- O Eterno Retorno Do Encontro - Ailton Krenak - OutputDocumento7 páginasO Eterno Retorno Do Encontro - Ailton Krenak - OutputJuliana CostaAinda não há avaliações
- Cosmovisão AULA 3Documento14 páginasCosmovisão AULA 3Heloisa G BAinda não há avaliações
- A Espiritualidade Do Bem ViverDocumento12 páginasA Espiritualidade Do Bem ViverMauriPerkowskiAinda não há avaliações
- Ailton Krenak Território e ResistênciaDocumento10 páginasAilton Krenak Território e ResistênciaEdinaldo Gonçalves CoelhoAinda não há avaliações
- ELIANE BRUM "Decretem Nossa Extinção e Nos Enterrem Aqui"Documento8 páginasELIANE BRUM "Decretem Nossa Extinção e Nos Enterrem Aqui"esmaelAinda não há avaliações
- O Bem Viver Nos Povos IndígenasDocumento14 páginasO Bem Viver Nos Povos IndígenasnairAinda não há avaliações
- Histórias e Culturas IndígenasDocumento31 páginasHistórias e Culturas IndígenasFernando CesarAinda não há avaliações
- R-092 Marina Evaristo WenceslauDocumento11 páginasR-092 Marina Evaristo WenceslauGEOGRAFÍA DE COSTA RICAAinda não há avaliações
- 78352-Texto Do Artigo-347849-1-10-20180629Documento12 páginas78352-Texto Do Artigo-347849-1-10-20180629SleepdogAinda não há avaliações
- Sisebmaterialapoio 1077 Capac Ad 2021apresentacaojulie DorricoDocumento19 páginasSisebmaterialapoio 1077 Capac Ad 2021apresentacaojulie DorricoJOSÉ JUAN DA SILVA MONTEIROAinda não há avaliações
- Cartilha Indigenas 1Documento28 páginasCartilha Indigenas 1Arte de MeditarAinda não há avaliações
- Reserva Indígena de Dourados: Histórias e Desafios ContemporâneosDocumento285 páginasReserva Indígena de Dourados: Histórias e Desafios ContemporâneosThiago CavalcanteAinda não há avaliações
- Ad - Diversidade Cultural 2021Documento40 páginasAd - Diversidade Cultural 2021Rosangela Silva VianaAinda não há avaliações
- Arquivo Completo Das Atividades - Primeira Quinzena de AgostoDocumento22 páginasArquivo Completo Das Atividades - Primeira Quinzena de AgostoGraciane CristinaAinda não há avaliações
- O Lugar Da Memória Na Mitologia e A Relação Com Os Rituais Kaingang Da Terra Indígena Xapecó - SCDocumento16 páginasO Lugar Da Memória Na Mitologia e A Relação Com Os Rituais Kaingang Da Terra Indígena Xapecó - SCAndre Dri BiaziAinda não há avaliações
- Literatura Indígena BrasileiraDocumento12 páginasLiteratura Indígena BrasileiraRafael AlbuquerqueAinda não há avaliações
- GRAÚNA, Graça. Contrapontos Da Literatura Indígena ContemporâneDocumento87 páginasGRAÚNA, Graça. Contrapontos Da Literatura Indígena ContemporâneFabis100% (1)
- Indios Tupi GuaraniDocumento8 páginasIndios Tupi GuaraniangiekloppelAinda não há avaliações
- DownloadDocumento18 páginasDownloadterrodosgamestutorialAinda não há avaliações
- Dentro Do Trabalho de HistóriaDocumento9 páginasDentro Do Trabalho de HistóriaRHAINA CAROLLINE FERREIRA POLETOAinda não há avaliações
- GRAÚNA, Graça. Contrapontos Da Literatura Indígena ContemporaneaDocumento87 páginasGRAÚNA, Graça. Contrapontos Da Literatura Indígena ContemporaneaLlama VicuñaAinda não há avaliações
- Baba EgumDocumento15 páginasBaba Egumcelsobarreto100% (2)
- SUZART Elizabete CostaDocumento12 páginasSUZART Elizabete CostaMatheus AndradesAinda não há avaliações
- Negritude Potiguar, Vol 4Documento210 páginasNegritude Potiguar, Vol 4cleyton lopesAinda não há avaliações
- Resenha Critica - Henrique FerreiraDocumento3 páginasResenha Critica - Henrique FerreiraHenrique ferreiraAinda não há avaliações
- His Colon Iz 1919 RochDocumento442 páginasHis Colon Iz 1919 Rochmarcelorodrigues9215Ainda não há avaliações
- Diversidade - Indigena oDocumento14 páginasDiversidade - Indigena otainara100% (1)
- Pioneiros Indios Ou Encantados de Quem eDocumento14 páginasPioneiros Indios Ou Encantados de Quem eLeonardo MendesAinda não há avaliações
- Paper Brasil Colonia - KedmaDocumento3 páginasPaper Brasil Colonia - KedmaNikolas PereiraAinda não há avaliações
- Reconhecimento Da TerraDocumento5 páginasReconhecimento Da TerraFernanda SklovskyAinda não há avaliações
- 10 Á 14 Maio 5° AnoDocumento14 páginas10 Á 14 Maio 5° AnoElizandra FonsecaAinda não há avaliações
- CADERNO 1 01 CIE HIST GEO 2022 Compactado (17243)Documento44 páginasCADERNO 1 01 CIE HIST GEO 2022 Compactado (17243)luzaneide LimaAinda não há avaliações
- Obra Resenhada-1Documento4 páginasObra Resenhada-1deniserodrigues4702Ainda não há avaliações
- Indios e NegrosDocumento87 páginasIndios e NegrosThaís PadovaniAinda não há avaliações
- Elisângela Ferreira - Interfaces Entre Juventude e Gênero PDFDocumento15 páginasElisângela Ferreira - Interfaces Entre Juventude e Gênero PDFBrena BarrosAinda não há avaliações
- O Início de Tudo Os Primeiros RegistroDocumento32 páginasO Início de Tudo Os Primeiros RegistroMarcusPierreAinda não há avaliações
- Caderno 8 Historia e Jeito de Viver Do Povo GuaraniDocumento28 páginasCaderno 8 Historia e Jeito de Viver Do Povo GuaranidanygusmanAinda não há avaliações
- Materiais ComplementaresDocumento17 páginasMateriais ComplementaresmarvitiogamesAinda não há avaliações
- 12 AULA - LIVRO - Crenças Indígenas No BrasilDocumento27 páginas12 AULA - LIVRO - Crenças Indígenas No BrasilHera BrigagaoAinda não há avaliações
- Os Tuxá de Rodelas e As Ilhas Do Rio-MarDocumento6 páginasOs Tuxá de Rodelas e As Ilhas Do Rio-MarGabriela Castro AlvesAinda não há avaliações
- Desiguais e Combinados Índios e Brancos No Vale Do Rio Tibagi MOTA E NOVAKDocumento37 páginasDesiguais e Combinados Índios e Brancos No Vale Do Rio Tibagi MOTA E NOVAKPati FacinaAinda não há avaliações
- Atividade O Povo Brasileiro - Darcy RibeiroDocumento3 páginasAtividade O Povo Brasileiro - Darcy RibeiroTatiane Rosa Silva100% (2)
- Os Povos IndígenasDocumento6 páginasOs Povos IndígenasMônica SouzaAinda não há avaliações
- Belfares,+718 1614 1 CEDocumento23 páginasBelfares,+718 1614 1 CETaís DelmiroAinda não há avaliações
- Gentes-Terras - Jones Goettert 2020Documento26 páginasGentes-Terras - Jones Goettert 2020Jeniffer SantanaAinda não há avaliações
- Diálogos Entre A Pesquisa Histórica e A Memória Quilombola: Um Estudo Sobre A Comunidade de Manoel Barbosa/RSDocumento32 páginasDiálogos Entre A Pesquisa Histórica e A Memória Quilombola: Um Estudo Sobre A Comunidade de Manoel Barbosa/RSGabriela BattassiniAinda não há avaliações
- Biblioteca, 2 DOSSIÊ HISTÓRIA INDÍGENA ARTIGO SUELEN DE ANDRADE TEXTO 02Documento17 páginasBiblioteca, 2 DOSSIÊ HISTÓRIA INDÍGENA ARTIGO SUELEN DE ANDRADE TEXTO 02Dudu VargasAinda não há avaliações
- Caso Xukuru e Bem Viver Fulni-Ô Paula Santana e Tiago QueirozDocumento29 páginasCaso Xukuru e Bem Viver Fulni-Ô Paula Santana e Tiago QueirozÂni QueirozAinda não há avaliações
- Resenha - Os Tapuias Cariris Dos Sertões Da Paraíba - Arthur FranklinDocumento3 páginasResenha - Os Tapuias Cariris Dos Sertões Da Paraíba - Arthur FranklinARTHUR FRANKLIN FERREIRA LOPES100% (1)
- Atividades 4º Ano A - Período de Realização 21-06-2021 A 02-07-2021 (Devolver Dia 05-07-2021) Escola Tancredo NevesDocumento16 páginasAtividades 4º Ano A - Período de Realização 21-06-2021 A 02-07-2021 (Devolver Dia 05-07-2021) Escola Tancredo NevesAngela Maria PiriniAinda não há avaliações
- 618 2593 1 PBDocumento20 páginas618 2593 1 PBlauraterenaAinda não há avaliações
- ALBERNAZ ConsideracoesSobreOParentescoPorCriacao PDFDocumento27 páginasALBERNAZ ConsideracoesSobreOParentescoPorCriacao PDFCarla Di Lorenzo MidõesAinda não há avaliações
- Inédito - Educação IndígenaDocumento38 páginasInédito - Educação IndígenaAnayme CantonAinda não há avaliações
- 2016m2d13 Proj Terra UniversalDocumento24 páginas2016m2d13 Proj Terra UniversalJoaolmpAinda não há avaliações
- Indigenismo Uma Historiografia Dos Povos Da AmDocumento315 páginasIndigenismo Uma Historiografia Dos Povos Da AmGuilherme VettorazziAinda não há avaliações
- Química e Materiais - Lista 3Documento12 páginasQuímica e Materiais - Lista 3Gabriela Fontes Deiró FerreiraAinda não há avaliações
- Acerto de Contas - Celia WaldenDocumento326 páginasAcerto de Contas - Celia Waldenjosue.calazans07Ainda não há avaliações
- Nubank - 2023 05 04Documento6 páginasNubank - 2023 05 04luanpatricksaaAinda não há avaliações
- Síntese de Pla - TabelaDocumento3 páginasSíntese de Pla - TabelaDriNay13Ainda não há avaliações
- Relatório 02 - Sistema de AlimentaçãoDocumento10 páginasRelatório 02 - Sistema de AlimentaçãoBruno LimaAinda não há avaliações
- Manual Aps Aluno SPP Unip - 2014 - 2Documento11 páginasManual Aps Aluno SPP Unip - 2014 - 2Barão BaronesAinda não há avaliações
- Kelvin Mitinick X ShimomuraDocumento6 páginasKelvin Mitinick X ShimomuraAlexandre Torquato RufinoAinda não há avaliações
- Gestão Pública No Brasil - Temas Preservados e Temas Emergentes Na Formação Da AgendaDocumento25 páginasGestão Pública No Brasil - Temas Preservados e Temas Emergentes Na Formação Da AgendaLuis FelippeAinda não há avaliações
- Cisnormatividade e Passabilidade - Deslocamentos e Diferenças Nas Narrativas de Pessoas Trans PDFDocumento22 páginasCisnormatividade e Passabilidade - Deslocamentos e Diferenças Nas Narrativas de Pessoas Trans PDFWenderson SilvaAinda não há avaliações
- IAGODocumento1 páginaIAGOJoão Paulo MocellinAinda não há avaliações
- Apostila CCNA 200 301 v1 PDFDocumento428 páginasApostila CCNA 200 301 v1 PDFMisael SilveiraAinda não há avaliações
- Exercicio Avaliativo 1 AnoDocumento4 páginasExercicio Avaliativo 1 AnoDan AlexAinda não há avaliações
- 2 - AtomísticaDocumento13 páginas2 - AtomísticadennersilvaAinda não há avaliações
- Questões para o SimuladoDocumento13 páginasQuestões para o SimuladoCarlos BraynerAinda não há avaliações
- Bomba de Seringa BSS 200 BiosensorDocumento28 páginasBomba de Seringa BSS 200 BiosensorRafael AlbuquerqueAinda não há avaliações
- ArquivoDocumento1 páginaArquivoCharlim SabaraAinda não há avaliações
- Relatório Final Do Estagio I PDFDocumento11 páginasRelatório Final Do Estagio I PDFGessicaAinda não há avaliações
- Matemtica - 5 Ano - 3 Bimestre - Caderno Do AlunoDocumento41 páginasMatemtica - 5 Ano - 3 Bimestre - Caderno Do AlunomarcotonisAinda não há avaliações
- Procedimento de Instalação em Rede Softwares ProDocumento8 páginasProcedimento de Instalação em Rede Softwares ProcmtonioloAinda não há avaliações
- Funcao Do Rubisco No Ciclo de CalvinDocumento10 páginasFuncao Do Rubisco No Ciclo de CalvinDário Cristovão CristovãoAinda não há avaliações
- Aululária - Plauto PDFDocumento28 páginasAululária - Plauto PDFGabriela VarelaAinda não há avaliações
- Biodiversida de Marinha Da Ilha Do MaranhaoDocumento210 páginasBiodiversida de Marinha Da Ilha Do MaranhaoCarolinaAinda não há avaliações
- TCC FinalizadoDocumento40 páginasTCC FinalizadoLindolfoOliveiraAinda não há avaliações
- A Economia Política Da Política de ComércioDocumento45 páginasA Economia Política Da Política de ComércioDenise Marangon100% (1)
- Esquema Eletrico Peugeot 306Documento35 páginasEsquema Eletrico Peugeot 306Alcindo Taro80% (15)
- Catalogo Linha Industrial 2016 WebDocumento40 páginasCatalogo Linha Industrial 2016 WebJéssica NunesAinda não há avaliações
- Cana de Açúcar - FermentaçãoDocumento2 páginasCana de Açúcar - FermentaçãoRobson RodriguesAinda não há avaliações
- ATIVIDADE DISSERTATIVA - Antropologia IDocumento3 páginasATIVIDADE DISSERTATIVA - Antropologia ICeloPlay Santos100% (1)
- Estudo de CasoDocumento1 páginaEstudo de CasoJéssicaTavaresAinda não há avaliações
- A Diferença Básica Entre o Diodo Zener e o Diodo Retificador É Que o Diodo Zener Opera Na Região de Ruptura Ao Passo Que o Diodo Retificador Será Danificado Se Atingir Esta RegiãoDocumento11 páginasA Diferença Básica Entre o Diodo Zener e o Diodo Retificador É Que o Diodo Zener Opera Na Região de Ruptura Ao Passo Que o Diodo Retificador Será Danificado Se Atingir Esta RegiãoEvanildo PalmaAinda não há avaliações
- A história do Brasil para quem tem pressa: Dos bastidores do descobrimento à crise de 2015 em 200 páginas!No EverandA história do Brasil para quem tem pressa: Dos bastidores do descobrimento à crise de 2015 em 200 páginas!Nota: 4 de 5 estrelas4/5 (17)
- Danças de matriz africana: Antropologia do movimentoNo EverandDanças de matriz africana: Antropologia do movimentoNota: 3 de 5 estrelas3/5 (3)
- A Reforma em Quatro Tempos: Desdobramentos na Europa e no BrasilNo EverandA Reforma em Quatro Tempos: Desdobramentos na Europa e no BrasilNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Histórias e culturas indígenas na Educação BásicaNo EverandHistórias e culturas indígenas na Educação BásicaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Memórias de um adolescente brasileiro na Alemanha nazistaNo EverandMemórias de um adolescente brasileiro na Alemanha nazistaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (5)
- Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de FutebolNo EverandOs Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de FutebolAinda não há avaliações
- A Geografia escolar e a cidade: Ensaios sobre o ensino de geografia para a vida urbana cotidianaNo EverandA Geografia escolar e a cidade: Ensaios sobre o ensino de geografia para a vida urbana cotidianaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Jesus todo dia: Encontre‐se com Deus todos os dias e deixe o amor transbordar na sua vidaNo EverandJesus todo dia: Encontre‐se com Deus todos os dias e deixe o amor transbordar na sua vidaNota: 4 de 5 estrelas4/5 (13)
- Pedrinhas miudinhas: Ensaios sobre ruas, aldeias e terreirosNo EverandPedrinhas miudinhas: Ensaios sobre ruas, aldeias e terreirosNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5)
- Preso na Gaiola: A Criminalização do Funk Carioca nas Páginas do Jornal do Brasil (1990-1999)No EverandPreso na Gaiola: A Criminalização do Funk Carioca nas Páginas do Jornal do Brasil (1990-1999)Ainda não há avaliações
- Autoritarismo e golpes na América Latina: Breve ensaio sobre jurisdição e exceçãoNo EverandAutoritarismo e golpes na América Latina: Breve ensaio sobre jurisdição e exceçãoAinda não há avaliações
- A Literatura para crianças e jovens no Brasil de ontem e de hoje: Caminhos de ensinoNo EverandA Literatura para crianças e jovens no Brasil de ontem e de hoje: Caminhos de ensinoAinda não há avaliações
- Conformismo e resistência: Escritos de Marilena Chaui, vol. 4No EverandConformismo e resistência: Escritos de Marilena Chaui, vol. 4Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O Livro Urgente da Política Brasileira, 4a EdiçãoNo EverandO Livro Urgente da Política Brasileira, 4a EdiçãoNota: 4 de 5 estrelas4/5 (9)
- Cidadania, desigualdade social e política sanitária no brasilNo EverandCidadania, desigualdade social e política sanitária no brasilAinda não há avaliações
- O bebê do amanhã: Um novo paradigma para a criação dos filhosNo EverandO bebê do amanhã: Um novo paradigma para a criação dos filhosNota: 1.5 de 5 estrelas1.5/5 (2)
- Marketing Eleitoral: O passo a passo do nascimento de um candidatoNo EverandMarketing Eleitoral: O passo a passo do nascimento de um candidatoAinda não há avaliações
- História da educação brasileira: Um olhar didático ilustrado com chargesNo EverandHistória da educação brasileira: Um olhar didático ilustrado com chargesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)