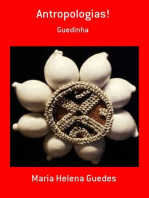Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Aula 2 Aluno ETICA AMBIENTAL 2023
Aula 2 Aluno ETICA AMBIENTAL 2023
Enviado por
Muquissirima Ussene AbacarDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Você também pode gostar
- Eros Grau - Direito Posto e Direito Pressuposto - 7º Edição - Ano 2008 PDFDocumento363 páginasEros Grau - Direito Posto e Direito Pressuposto - 7º Edição - Ano 2008 PDFFelipe Dos Santos100% (3)
- Prova para A Admissão de LençoDocumento3 páginasProva para A Admissão de LençoEva33% (3)
- 193 Transitar Sobre Marcas de CanalizaçãoDocumento4 páginas193 Transitar Sobre Marcas de CanalizaçãoDEGOAinda não há avaliações
- Capítulo 1 Um Espelho para A HumanidadeDocumento15 páginasCapítulo 1 Um Espelho para A Humanidadeterradomar67% (3)
- Ética no uso de animais em atividades científicas e acadêmicasNo EverandÉtica no uso de animais em atividades científicas e acadêmicasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Livro Bayley - Padrões de Policiamento - Páginas 117 A 143Documento39 páginasLivro Bayley - Padrões de Policiamento - Páginas 117 A 143LeninSP100% (1)
- Etica Ambiental PortugueseDocumento15 páginasEtica Ambiental PortugueseTarcisio Augusto Alves SilvaAinda não há avaliações
- 0023 4834 1986 1 1 - CompressedDocumento22 páginas0023 4834 1986 1 1 - CompressedbibliotecanataliecoelhoAinda não há avaliações
- Ciencia e Meio AmbienteDocumento5 páginasCiencia e Meio AmbienteCatarina Pedralva TrintaAinda não há avaliações
- Biocentrimos 2Documento13 páginasBiocentrimos 2Carlos GaleriaAinda não há avaliações
- Artigo 2 Do 2 - BIOÉTICA GLOBAL - 2019Documento15 páginasArtigo 2 Do 2 - BIOÉTICA GLOBAL - 2019Algol AFAinda não há avaliações
- 2001 Etica Ecologica e Bioetica AmbientalDocumento90 páginas2001 Etica Ecologica e Bioetica AmbientalAlexandre OctavioAinda não há avaliações
- Ética e EcologiaDocumento2 páginasÉtica e Ecologiamarcelaa88100% (1)
- Trabalho de ÉticaDocumento4 páginasTrabalho de ÉticaALAINE SILVA DE MELOAinda não há avaliações
- Ética e Meio AmbienteDocumento5 páginasÉtica e Meio AmbienteIzabela MonteiroAinda não há avaliações
- Ainda Uma Vez A Ética e A Ética AmbientalDocumento8 páginasAinda Uma Vez A Ética e A Ética AmbientalCaio_GoisAinda não há avaliações
- Noções de BioéticaDocumento7 páginasNoções de Bioéticamairrcon100% (1)
- Demografia e Ecologia HumanaDocumento7 páginasDemografia e Ecologia Humanaalexcostanovo100% (1)
- Problemas de Etica e BioeticaDocumento15 páginasProblemas de Etica e BioeticamilenaAinda não há avaliações
- Crescimento Demografico e Meio AmbienteDocumento7 páginasCrescimento Demografico e Meio AmbienteAlberto SaicaAinda não há avaliações
- BIB Bib9303 2020 - MAY PDFDocumento25 páginasBIB Bib9303 2020 - MAY PDFLuciana dos SantosAinda não há avaliações
- Sustainability Sciences Political and Epistemological Approaches - Oxford - 2017Documento14 páginasSustainability Sciences Political and Epistemological Approaches - Oxford - 2017Márcia KravetzAinda não há avaliações
- Antropologia Cultural IntroducaoDocumento21 páginasAntropologia Cultural IntroducaoJairo Menes BrizolaAinda não há avaliações
- Antropologia JurídicaDocumento177 páginasAntropologia JurídicaRicardo CarvalhoAinda não há avaliações
- Ética AmbientalDocumento32 páginasÉtica AmbientalneibetoAinda não há avaliações
- Resumo BioéticaDocumento11 páginasResumo Bioética369741Ainda não há avaliações
- Ensaio FilosóficoDocumento3 páginasEnsaio FilosóficoDiogo DiasAinda não há avaliações
- Etica BiocentricaDocumento13 páginasEtica BiocentricasoulpassengerAinda não há avaliações
- Escola de Teologia Claudio Franca Apostila de AntropologiaDocumento29 páginasEscola de Teologia Claudio Franca Apostila de AntropologiaGiovanna TahanAinda não há avaliações
- A Existência de Deus Não É Do Domínio Da CiênciaDocumento3 páginasA Existência de Deus Não É Do Domínio Da CiênciaTomás Guerreiro GomesAinda não há avaliações
- A Filosofia Científica e Os Limites Da CiênciaDocumento6 páginasA Filosofia Científica e Os Limites Da CiênciaRonaldo AlvesAinda não há avaliações
- Capítulo 2 - Ética Ecológica - Wolfang. Ingo Sarlet.Documento34 páginasCapítulo 2 - Ética Ecológica - Wolfang. Ingo Sarlet.Salissa JordanaAinda não há avaliações
- A Ciência e A ÉticaDocumento2 páginasA Ciência e A ÉticaBruna OlíviaAinda não há avaliações
- Livro de Ecologia HumanaDocumento133 páginasLivro de Ecologia HumanaAugusto Lourenco100% (1)
- Capítulo 1Documento16 páginasCapítulo 1Fabio ColtroAinda não há avaliações
- Web Aula 1Documento8 páginasWeb Aula 1Rogerio Almeida RangelAinda não há avaliações
- Trabalho de Ética e AxiologiaDocumento7 páginasTrabalho de Ética e AxiologiaDiogo André Costa RodriguesAinda não há avaliações
- Bioética. Origens e Significados 2019-2020Documento2 páginasBioética. Origens e Significados 2019-2020Rui Da VeigaAinda não há avaliações
- Olinto PegoraroDocumento7 páginasOlinto PegoraroAngela DeanAinda não há avaliações
- Aula 1 PDFDocumento12 páginasAula 1 PDFJunior QuintanaAinda não há avaliações
- Saber Oque Está Distante 1BDocumento8 páginasSaber Oque Está Distante 1BDae EscolarAinda não há avaliações
- Metodologia Da Pesquisa 1Documento23 páginasMetodologia Da Pesquisa 1luizaAinda não há avaliações
- Zoologia-Geral - pdf2018 (Reparado)Documento78 páginasZoologia-Geral - pdf2018 (Reparado)Miguel Eusebio MaluaAinda não há avaliações
- A Existência de Deus Não É Do Domínio Da CiênciaDocumento4 páginasA Existência de Deus Não É Do Domínio Da CiênciaTomás Guerreiro GomesAinda não há avaliações
- Resenha Antropologia 12Documento8 páginasResenha Antropologia 12Pedro Jorge JorgeAinda não há avaliações
- Resumo 3 - AnoDocumento4 páginasResumo 3 - AnoJoão Lucas Martins NunesAinda não há avaliações
- Aula 2 - História Da Bioética - AutalDocumento19 páginasAula 2 - História Da Bioética - AutalMarciano SantosAinda não há avaliações
- Limites e Ecologia Do SaberDocumento11 páginasLimites e Ecologia Do Saberosnildo carvalhoAinda não há avaliações
- Interpretaes Da Crise e As TonalidadesDocumento15 páginasInterpretaes Da Crise e As TonalidadesEmili AraujoAinda não há avaliações
- Homo Ecologicus - Educação Ambiental, Ecologia e SustentabilidadeDocumento179 páginasHomo Ecologicus - Educação Ambiental, Ecologia e Sustentabilidademarcelopelizzoli100% (4)
- OLIVEIRA e ANJOS FILHO - Bioética e Pesquisas em Seres HumanosDocumento41 páginasOLIVEIRA e ANJOS FILHO - Bioética e Pesquisas em Seres HumanosPaulo Henrique MessiasAinda não há avaliações
- Bioética: ResumoDocumento2 páginasBioética: ResumoMargarida MirandaAinda não há avaliações
- Historico Da BioeticaDocumento7 páginasHistorico Da BioeticaLidian RibeiroAinda não há avaliações
- Homem e Consciência EcológicaDocumento41 páginasHomem e Consciência EcológicaconceicaobelfortAinda não há avaliações
- Unid 04Documento19 páginasUnid 04Gabriel SantosAinda não há avaliações
- História Ciências NaturaisDocumento6 páginasHistória Ciências NaturaisLuana VidalAinda não há avaliações
- Educação Ambiental Educar Ou InformarDocumento7 páginasEducação Ambiental Educar Ou InformarFabio BatistaAinda não há avaliações
- Marcos Pellizzoli, Correntes Da Ética Ambiental. Ed. Petrópolis Vozes 2004Documento121 páginasMarcos Pellizzoli, Correntes Da Ética Ambiental. Ed. Petrópolis Vozes 2004Karlos MacielAinda não há avaliações
- Etologia HumanaDocumento6 páginasEtologia HumanaRafael Reis Claudino100% (1)
- Conceitos e Fundamentos Gerais Sobre Ecologia PDFDocumento259 páginasConceitos e Fundamentos Gerais Sobre Ecologia PDFMarcelo MarcosAinda não há avaliações
- Ideologias de Linguagem - Uma Breve Discussão Acerca Da Mudança de Paradigmas Nas Ciências e No Ensino Da LinguagemDocumento21 páginasIdeologias de Linguagem - Uma Breve Discussão Acerca Da Mudança de Paradigmas Nas Ciências e No Ensino Da LinguagemWillian GonçalvesAinda não há avaliações
- Aula 1-2 - Introdução À Segurança Do TrabalhoDocumento34 páginasAula 1-2 - Introdução À Segurança Do TrabalhoIgor MachadoAinda não há avaliações
- O Transporte Aereo 2º Ano Geo Com Resposta 1Documento1 páginaO Transporte Aereo 2º Ano Geo Com Resposta 1richard_junior2Ainda não há avaliações
- 2 ETAPA - Ficha de Acompanhamento Do EstágioDocumento5 páginas2 ETAPA - Ficha de Acompanhamento Do EstágioClemilda SantosAinda não há avaliações
- 8 Ano PORTUGUèS Ativ. 06 Vozes Do VerboDocumento15 páginas8 Ano PORTUGUèS Ativ. 06 Vozes Do Verbovanuzagomes714Ainda não há avaliações
- Arte Romana 1ºano 1º Bimestre 2023Documento48 páginasArte Romana 1ºano 1º Bimestre 2023ferpschdrAinda não há avaliações
- EI 05 Circuitos Monofásicos e Trifásicos IIIDocumento35 páginasEI 05 Circuitos Monofásicos e Trifásicos IIIJose BatistaAinda não há avaliações
- Cifra Club - Clara Nunes - Conto de AreiaDocumento3 páginasCifra Club - Clara Nunes - Conto de AreiaJéssica ReisAinda não há avaliações
- Manual Preenchimento Estagios - Tutelados - Ficha Capa e MeioDocumento8 páginasManual Preenchimento Estagios - Tutelados - Ficha Capa e MeioTrabalhos AcademicosAinda não há avaliações
- Eterno Retorno Do Fascismo de Rob Riemen - JCA - ENSAIODocumento2 páginasEterno Retorno Do Fascismo de Rob Riemen - JCA - ENSAIOJosé Carlos S. de AlmeidaAinda não há avaliações
- O Que Podemos Aprender Do Pacto Que Josué Fez Com Os GibeonitasDocumento2 páginasO Que Podemos Aprender Do Pacto Que Josué Fez Com Os GibeonitasNilsonSenaAinda não há avaliações
- Estágio Supervisionado Na Educação de Jovens e AdultosDocumento2 páginasEstágio Supervisionado Na Educação de Jovens e AdultosrhannabrtAinda não há avaliações
- Midiologia SubliminarDocumento5 páginasMidiologia Subliminarurbano-cerqueira-matos-junior-2850Ainda não há avaliações
- O Papa Disse Que Quer A ConfusãoDocumento4 páginasO Papa Disse Que Quer A ConfusãoPaulo ValençaAinda não há avaliações
- AULA 01 - Noções de Gestão de Pessoas P - TRTs - Técnico Judiciário - Área AdministrativaDocumento56 páginasAULA 01 - Noções de Gestão de Pessoas P - TRTs - Técnico Judiciário - Área AdministrativaKayque SantosAinda não há avaliações
- População Da ÁsiaDocumento2 páginasPopulação Da ÁsiaGILBERTO RODRIGUESAinda não há avaliações
- Panfleto S E LivrearbitrioDocumento3 páginasPanfleto S E LivrearbitrioMonicaAinda não há avaliações
- WWW Psicoexistencial Com BRDocumento4 páginasWWW Psicoexistencial Com BRRollAinda não há avaliações
- Arcanjo SamuelDocumento5 páginasArcanjo Samuelsrwsalone100% (1)
- 4o Ano Geografia Bimestre 3 Proposta ADocumento82 páginas4o Ano Geografia Bimestre 3 Proposta ALuciana Santana CoelhoAinda não há avaliações
- Estratégias EstéticaDocumento7 páginasEstratégias EstéticaCamila Vilas BoasAinda não há avaliações
- A Nau de Quixibá - Alexandre Pinheiro TorresDocumento117 páginasA Nau de Quixibá - Alexandre Pinheiro TorrespossidonioffAinda não há avaliações
- WENDELL LÉO CASTELLANO - Materias e Gestão de PessoasDocumento5 páginasWENDELL LÉO CASTELLANO - Materias e Gestão de PessoasCrewsvaldoAinda não há avaliações
- SemaDocumento2 páginasSemaLéo SantosAinda não há avaliações
- Curso 17020 2012 Organismos PDFDocumento120 páginasCurso 17020 2012 Organismos PDFSimone Peixoto100% (1)
- Filosofia e Ética - EbookDocumento140 páginasFilosofia e Ética - EbookDaniel OliveiraAinda não há avaliações
- Slides - Dissertação 26 01Documento23 páginasSlides - Dissertação 26 01Wanessa OliveiraAinda não há avaliações
Aula 2 Aluno ETICA AMBIENTAL 2023
Aula 2 Aluno ETICA AMBIENTAL 2023
Enviado por
Muquissirima Ussene AbacarTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Aula 2 Aluno ETICA AMBIENTAL 2023
Aula 2 Aluno ETICA AMBIENTAL 2023
Enviado por
Muquissirima Ussene AbacarDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ÉTICA AMBIENTAL: PARA UMA NOVA EPISTEMOLOGIA
A ética ambiental está intimamente relacionada à ecologia ambiental, ambas estudam a
relação do homem com o meio ambiente, entretanto, a ética ambiental regula o
comportamento do homem em relação aos ecossistemas.
A ética ambiental como área de estudo surgiu na década de 1970 como consequência da
conscientização de que há valor em elementos não humanos da biosfera. O surgimento
da ética ambiental salienta um contraste em relação ao antropocentrismo adoptado pelo
mundo ocidental por séculos, a partir da visão judaico-cristã, que vê o Homo Sapiens do
sexo masculino como legitimo proprietário e beneficiário de todos os seres vivos e do
mundo físico e na terra, incluindo as mulheres, os animais e as plantas. ((Buckeridge,
2019:157:154)
É considerado um ramo filosófico porque propõe um pensamento ecológico, tentando
conscientizar as pessoas com base em ideias que proporcionam uma forma correta de
pensar em relação à natureza; sendo seu objetivo principal a preservação do meio
ambiente, e que os seres humanos não tentem contra seu desenvolvimento e evolução.
Ainda segundo Singer (2002), a ética ambiental valoriza o reaproveitamento e a
reciclagem de recursos, condena o consumismo, desestimula a existência de grandes
famílias e estimula uma alimentação baseada em legumes e cereais, condenando a
proliferação de animais de corte cujo esterco produz metano.
A ética ambiental consiste em teoria e prática sobre preocupação apropriada com
valores e deveres em relação ao mundo natural. Segundo explicações clássicas, a ética
diz respeito a pessoas relacionando-se com pessoas em justiça e amor. A ética ambiental
parte de preocupações humanas com uma qualidade ambiental, e alguns pensam que
isto molda a ética como um todo. Outros sustentam que, além das preocupações inter-
humanas, os valores estão em jogo quando os humanos se relacionam com animais,
plantas, espécies e ecossistemas. Segundo essa visão, os humanos devem julgar a
natureza as vezes considerável moralmente nela mesma, e isto orienta a ética para novas
direções. (Rolston, 2007:557)
A ética ambiental permaneceu desconhecida até meados da década de 1970. Isso
mudaria rapidamente. Os filósofos publicaram dúzias de antologias e obras sistemáticas
Por: Estefânia Frederico Joaquim
no campo, e cursos são ministrados em centenas de universidades e faculdades em
muitos continentes. (Rolston, 2007:557)
Os filósofos pensaram a respeito da natureza por milênios. Embora haja uma ética
implícita em muitas dessas visões de mundo, isto jamais foi muito desenvolvido no
Ocidente. Na sequência do iluminismo e da revolução cientifica, na filosofia secular a
natureza passou a ser vista como um reino destituido de valores, regido por forças
causais mecânicas. Os valores surgiram somente com os interesses e preferências dos
humanos. Nas teologias judeu cristas que prevaleciam anteriormeme, Deus criou uma
boa -terra com miríades de criaturas, e sujeitou-as ao domínio humano.
Por quatro séculos, a filosofia ocidental e a Teologia foram predominantemente
humanistas ou, em vocabulário corrente, antropocêntricas. A ética ambiental aplica a
ética ao ambiente de maneira análoga a ética aplicada aos NEGOCIOS, a MEDICINA,
a ENGENHARIA, ao DIRETTO e a TECNOLOGIA. Semelhantes aplicações
humanistas podem representar um desafio: limitar o crescimento populacional ou o
desenvolvimento, questionar O consumismo e a distribuição de riqueza, Defender a
fusão de mulheres ou povos aborígines, ou advertir contra o aquecimento global. A
qualidade ambiental e necessária para a qualidade da vida humana.
Os humanos reconstroem dramaticamente seus ambientes; ainda assim, suas vidas,
preenchidas com artefatos, são vividas em uma ecologia natural na qual recursos como
solo, ar, água, fotossíntese, clima - são questões de vida e morte. Os destinos da cultura
e da natureza estão interligados, de modo similar (e relacionado) a maneira pela qual as
mentes são inseparáveis dos corpos. Assim, a ética precisa ser aplicada ao meio
ambiente.
Em maior profundidade, porém, a ética ambiental e mais radical na "ética aplicada"
(como muitos defendem) fora do sector dos interesses humanos. A ética contemporânea
tem se preocupado em ser abrangente: pobres e ricos, mulheres e homens, gerações
futuras e do presente. A ética ambiental e ainda mais abrangente, Baleias assassinadas.
Lobos extintos, corujas e seus habitats destruídos, corte de antigas florestas, a Terra
ameaçadas pelo aquecimento global - estas são questões éticas intrinsecamente ligadas a
valores destemidos na natureza, assim como instrumentalmente ligadas a recursos
humanos postos em risco. Os humanos precisam incluir a natureza em sua ética.
Precisam incluir-se na natureza. Com certa ironia. Exatamente quando ' os humanos,
Por: Estefânia Frederico Joaquim
com suas cada vez mais avançadas tecnologias e indústria, pareciam cada vez mais
distantes da natureza, dotados de mais conhecimento sobre processos naturais e mais
Capacidade de lidar com eles. o mundo natural surgiu como foco de preocupação ética.
A capacidade humana de afetar a natureza aumentou de maneira que a Ética ambienta e
dramática, assim como aumentou o desaparecimento de espécies ou o aquecimento
global. Populações que crescem de maneira explosiva suscitam a preocupação de que os
humanos não mantiveram uma relação sustentável com seu ambiente. E tampouco
distribuíram de maneira equitativa os benefícios derivados dos recursos naturais. Por
fim, tampouco tiveram sensibilidade suficiente para o bem-estar das miríades de outras
espécies. 0 plano aqui é delinear seis níveis de preocupação: humanos, animais,
organismos, espécies, ecossistemas, Terra. Eles serão cruzados com mais de uma dúzia
de diferentes abordagens da ética ambiental: ética humanista, ética do bem-estar animal,
biocentrismo, ecologia profunda, ética da terra, ética ambiental teológica, ética da eco
justiça, ética comunitarista com âmbitos de preocupação, ética da virtude ambiental,
ética ambiental axiológica, ecologia política, ética do desenvolvimento sustentável, bio-
regionalismo, ecofeminismo, ética ambiental p6s-modema e ética local.
( Rolston,2007:558-559).
A ética ambiental na escala global e regional está inextricavelmente ligada a ética do
desenvolvimento.
EPISTEMOLOGIA E SABER AMBIENTAL
Epistemologia (do gr. episteme: ciência, e logos: teoria) Disciplina que toma as ciências
como objeto de investigação tentando reagrupar: a) a crítica do conhecimento científico
(exame dos princípios, das hipóteses e das conclusões das diferentes ciências, tendo em
vista determinar seu alcance e seu valor objetivo); b) a filosofia das ciências
(empirismo, racionalismo etc.); c) a história das ciências_ O simples fato de hesitarmos,
hoje entre duas denominações (epistemologia e filosofia das ciências) já é sintomático.
Segundo os países e os usos, o conceito de "epistemologia" serve para designar seja
uma teoria geral do conhecimento (de natureza filosófica), seja estudos mais restritos
concernentes à gênese e à estruturação das ciências. No pensamento anglo-saxão,
epistemologia é sinônimo de teoria do conhecimento (ou gnoseologia), sendo mais
conhecida pelo nome de philosophy of science ". E neste sentido que se fala de
epistemologia a propósito dos trabalhos de Piaget versando sobre os processos de
aquisição dos conhecimentos na criança. O fato é que um tratado de epistemologia pode
Por: Estefânia Frederico Joaquim
receber títulos tão diversos como: "A lógica da pesquisa científica". "Os fundamentos
da tisica", "Ciência e sociedade', "Teoria do conhecimento científico, "Metodologia
científica", "Ciência da ciência', "Sociologia das ciências" etc. Por essa simples
enumeração, podemos ver que a epistemologia é uma disciplina proteiforme que
segundo as necessidades se faz "lógica'. "filosofia do conhecimento". "sociologia",
"psicologia", "história" etc. Seu problema central, e que define seu estatuto geral
consiste em estabelecer se o conhecimento poderá ser reduzido a um puro registro, pelo
sujeito, dos dados já anteriormente organizados independentemente dele no mundo
exterior, ou se o sujeito poderá intervir ativamente no conhecimento dos objetos. Em
outras palavras ela se interessa pelo problema do crescimento dos conhecimentos
científicos. Por isso, podemos defini-la como a disciplina que toma por objeto não mais
a ciência verdadeira de que deveríamos estabelecer as condições de possibilidade ou os
títulos de legitimidade, mas as ciências em via de se fazerem, em seu processo de
gênese. de formação e de estruturação progressiva.(Japiassú & Marcondes,2001:63-64)
“A epistemologia ou teoria do conhecimento, é conduzida por duas questões principais:
“O que é conhecimento?” e “O que podemos conhecer?”. Se pensamos que podemos
conhecer algo, como quase todo mundo, então surge uma terceira questão essencial:
“Como conhecemos o que conhecemos?”. A maioria do que já foi escrito na
epistemologia através dos tempos aborda ao menos uma dessas três questões. Por
exemplo, no Teeteto, Platão considera a tese de que o conhecimento é a crença
verdadeira que pode ser justificada com um relato ou uma explicação. Racionalistas
como Descartes e empiristas como Hume defenderam teses opostas sobre como
conhecemos, e também discordaram sobre o que podemos conhecer” (GRECO, 2008, p.
16 apud Floriani, 2009:192).
A epistemologia é a reflexão, o estudo de propósito crítico sobre a ciência construída ou
em processo de construção, sendo que o conhecimento é cumulativo e que atendendo a
interesses e valores que se alteram com o tempo. Dessa forma, o objetivo a ser estudado
é a “práxis” científica e não o seu produto, ou seja, a epistemologia como função de
refletir não sobre a ciência feita, acabada, verdadeira, mas sobre o processo do
desenvolvimento científico. (MORA, s/d:2)
A abordagem epistemológica nos remete a uma investigação científica, que se origina
desde o seu aparecimento e etimologia, como destaca Carrilho; Ságua, (1991), até o
momento em que foi considerada disciplina científica, conforme Blanché, (1983) apud
Por: Estefânia Frederico Joaquim
Japiassu, (1986). Dentro do contexto histórico, muitos foram às abordagens na quais
filósofos e cientistas se embasaram. Pe. Cavalcante em seu livro: “Epistemologia e
Epistemologias” (1979, p. 20-24), destacam que a história da epistemologia aborda três
direções marcantes:
• A primeira é, tipicamente, filosófica. Isto significa que a epistemologia é uma parte da
filosofia, seja ela confundida com a gnosiologia, ou a lógica, ou a criteriologia; seja ela
apenas uma parte da teoria do conhecimento.
• A segunda direção impressa à conceituação de epistemologia e isso só acontece, com
certo afã, nos tempos contemporâneos, é a de encará-la como uma disciplina puramente
científica. Neste caso, ela não teria envolvimento com a filosofia. Poderíamos dizer que
a epistemologia seria, assim, uma metaciência, enquanto ciência da ciência.
• A terceira direção dos epistemólogos seria uma conjunção conciliatória, que entrariam
à ciência e a filosofia. Com efeito, para resolver problemas da ciência chamada
experimental, seja ela humana ou natural, é necessário que a própria ciência forneça os
dados e alguns elementos de soluções encontradas no próprio desenrolar-se da ciência.
Na perspectiva histórica do conhecimento, a epistemologia se molda dentro das
problemáticas de cada período, não sendo possível estabelecer um marco inicial desta,
tendo assim uma vasta contribuição teórica que aponta diversas definições, bem como
as origens sobre a ciência e a filosofia na abordagem epistemológica. Entre essas
definições, destacamos a do Pe. Cavalcante, (1979, p. 25), afirmando que: “a ciência é a
fonte fornecedora dos problemas a serem estudados pela epistemologia e muitas das
soluções devem ser procuradas e encontradas na própria ciência”. Para Santos (2005, p
17), a reflexão epistemológica “moderna” originou-se, enquanto filosofia, no “[...]
século XVII e atinge um dos seus pontos altos em fins do século XIX, ou seja, no
período que acompanha a emergência e a consolidação da sociedade industrial e assiste
no desenvolvimento espetacular da ciência e da técnica”. Nesse sentido, observamos
que não existe um consenso sobre a origem da epistemologia, mas sim a temporalidade
de filósofos que a classificam de acordo com o foco de abordagem pertinente frente às
interpretações científicas da época.
Considera os autores, que a epistemologia é um meio de investigação da ciência que
busca, através de métodos reflexivos dos saberes, um conjunto de conhecimentos
capazes de atender à problemática originada pelos novos paradigmas, entre eles o de
Por: Estefânia Frederico Joaquim
caráter ambiental. Pe. Cavalcante (1979, p. 27), aborda que a epistemologia, no sentido
bem amplo do termo, pode ser considerada como o estudo metódico e reflexivo do
saber, da organização, da formação, do desenvolvimento, do funcionamento e de seus
produtos intelectuais. Para ele, o saber se apresenta como um conjunto de
conhecimentos que respondem aos questionamentos e problemáticas, fomentando a
formação intelectual do indivíduo frente aos limites de abordagem.
A epistemologia consiste em um processo de reflexão, com o propósito crítico sobre a
ciência construída ou em processo de construção, sendo o conhecimento cumulativo e
atende a interesses e valores que se modificam com as novas necessidades. Atualmente,
a epistemologia não se interessa em discutir a verdade da ciência, conceito que perdeu o
sentido pela necessidade de uma maior abrangência do conhecimento, mas a gênese, a
formação e a estruturação de cada ciência e os processos históricos de validação que
aparecem.
A noção de epistemologia dentro dos novos paradigmas da relação dicotômica
homem/natureza justifica-se na exata medida em que, na atualidade, a abordagem do
conhecimento tem sido mais tecnicista e reducionista, ou seja, a simplificação excessiva
daquilo que é objeto de estudo, não sendo os aspectos filosófico-científicos valorizados.
De forma consensual, vários autores apontam que estudar epistemologia tem o sentido
de ir além das aparências, da falsa ilusão da objetividade, da busca e obtenção do
conhecimento válido, neutro e verdadeiro. Objetivam desmistificar a existência de
monopólio da ciência sobre o conhecimento, mostrando que existem outras formas de
conhecimento também válido. Dessa maneira, o diálogo entre as abordagens
epistemológicas faz-se necessário na medida em que há uma complexidade da formação
teórica ambiental, conforme norteiam as tendências em torno da epistemologia genética
de Piaget; da epistemologia histórica de Bachelard; da epistemologia arqueológica de
Foucault; da epistemologia da complexidade de Morin e das contribuições sobre a
racionalidade ambiental de Leff.
Todas elas abordam o processo de identificação das rupturas epistemológicas, dando
início à formulação de novos paradigmas que originaram as bases de fundamentação
para a complexidade ambiental. Esta necessita de uma articulação dialética entre os
saberes, numa relação constante de vigilância crítica científica. Não podemos então,
entender essas articulações como meros processos desvinculados de sua compreensão
Por: Estefânia Frederico Joaquim
filosófico-científica, sendo esta uma ponte entre os saberes. O problema ambiental
emerge como um novo desafio do conhecimento que busca incessantemente por
resultados dogmatistas, criando a “cegueira” e norteando a “tecnicidade”, o que
desencadeia um obstáculo epistemológico que extrapola as condições de domínio da
racionalidade teórico-científica. Devido às barreiras ambientais e sociais que surgem
deste processo global e da ausência epistemológica crítica reavaliativa, a ciência é
abordada atualmente. Portanto, é oportuna uma verificação sobre o conhecimento, sobre
o saber, sobre a ciência e sobre o pensamento de forma geral e específica, buscando, ao
mesmo tempo, fundamentar a complexidade da epistemologia com abordagem
ambiental. (MORA,s/d2-3)
O saber ambiental, de acordo com Leff (2012, p. 24), “constrói-se no encontro de visões
do mundo, racionalidades e identidades, na abertura do saber para a diversidade, a
diferença e a outridade, questionando a historicidade da verdade e abrindo o campo do
conhecimento para a utopia, para o não saber que alimenta as verdades por vir.” (Apud,
MORA, s/d,7)
Segundo LEFT, (2012:26-28), Afirma que, O saber ambiental emerge como uma
mudança de episteme: não é o deslocamento do estruturalismo teórico para a
emergência de uma ecologia generalizada, concebida como saber de fundo de um
pensamento da complexidade, mas de uma nova relação entre o ser e o saber. A
apreensão do real a partir do conhecimento (teoricismo) conduz a uma nova
racionalidade e a novas estratégias de poder no saber que orientam a apropriação
subjectiva, social e cultural da natureza. O ser, a identidade e a outridade propõem
novas perspectivas de compreensão e apropriação do mundo. Além do retorno ao Ser,
que libera a potência do real, do “Ser que deixa ser aos entes”, no heideggeriano, a
complexidade ambiental abre um jogo infinito de relações entre o real e o simbólico, de
relações inter- culturais e de relações de outridade que nunca se completam nem se
totalizam. O ambiente nunca chega a se internalizar em um paradigma científico ou em
um sistema de conhecimento.
Assim, de limiar em limiar, o saber ambiental vai se exteriorizando através das órbitas
para as quais se abre sua investigação e suas demarcações sucessivas. Nesta aventura
epistemológica, o limite do pensável não está nas margens da filosofia, mas no
horizonte infinito no qual navega o ser impulsionado por seu desejo de saber. Neste
espaço podemos distinguir cinco órbitas principais do saber ambiental:
Por: Estefânia Frederico Joaquim
1. A estratégia epistemológica para pensar a articulação das ciências diante da
totalização do saber por meio da teoria de sistemas, um método interdisciplinar e um
pensamento da complexidade;
2. A exteriorização do saber ambiental do círculo das ciências para as estratégias de
poder no saber que jogam no campo discursivo da sustentabilidade;
3. A construção da racionalidade ambiental, que rearticula o real e o simbólico, o
pensamento com a ação social, transcendendo as determinações estruturais e abrindo a
racionalidade universal para uma pluralidade de racionalidades culturais;
4. A formação do saber ambiental e a emergência da complexidade ambiental;
5. A reemergência do ser, a reinvenção das identidades e a ética da outridade, que
abrem um futuro sustentável através de um diálogo de saberes, dentro de uma política
da diversidade e da diferença que transcende o projeto interdisciplinar.
O saber ambiental vai se configurando em um espaço exterior ao círculo das ciências.
Mas essa relação de exterioridade é uma relação de criticidade; não é a de um saber
emergente que as ciências possam acolher para se completar, se atualizar e chegar a
termo em um progresso do conhecimento que avança desconhecendo e subjugando
saberes, ignorando o real que é seu Outro e que não pode integrar na positividade de sua
verdade objetiva. O exemplo mais notório disso é a negação da natureza, da lei da
entropia e das condições ecológicas de sustentabilidade pela racionalidade econômica.
A epistemologia ambiental fundamenta-se em um novo saber que emerge a partir do
limite do real (entropia), do projeto de unificação forçada do ser e da epopeia da ciência
pela objetividade e pela transparência do mundo. O ambiente se ergue como o Outro da
racionalidade da modernidade, do mundo realmente existente e dominante. O saber
ambiental questiona as ciências a partir de sua condição de externalidade e de outridade.
Dali emergem disciplinas ecológicas e ambientais; no entanto, o saber ambiental não se
integra às ciências, mas as impele a se reconstituir a partir do questionamento de uma
racionalidade ambiental, e a se abrir para novas relações entre ciências e saberes, a
estabelecer novas relações entre cultura e natureza e a gerar um diálogo de saberes, no
contexto de uma ecologia política em que o que está em jogo é a apropriação social da
natureza e a construção de um futuro sustentável. (LEFT, 2012:31).
Por: Estefânia Frederico Joaquim
Para LEFT, (2012-42) O saber ambiental orienta uma nova racionalidade para os “fins”
da sustentabilidade, da equidade e da justiça social.
BIBLIOGRAFIA
Floriani, D. (2009) Educação ambiental e epistemologia: conhecimento e Prática de
fronteira ou uma disciplina a mais?
Japiassú, H & Marcondes, D.(2001). DICIONÁRIO BÁSICO DE FILOSOFIA. Terceira
edição revista e ampliada Jorge Zahar Editor Rio de Janeiro.
Left, E. (2012). Aventuras da epistemologia ambiental: Da articulação das ciências ao
diálogo de saberes. Tradução de Silvana Cobucci Leite. Cortez Editora. Brasil-
Moura, M. A. P. Abordagem epistemológica da gestão ambiental. s/d.
Rolston, H.(2007). In Compendia de Filosofia. 2 ed. São Paulo, SP, Brasil;
Singer, P. (2002). O meio ambiente. In: SINGER, P. Ética Prática. 3 ed. São Paulo:
Martins Fontes.
Por: Estefânia Frederico Joaquim
Você também pode gostar
- Eros Grau - Direito Posto e Direito Pressuposto - 7º Edição - Ano 2008 PDFDocumento363 páginasEros Grau - Direito Posto e Direito Pressuposto - 7º Edição - Ano 2008 PDFFelipe Dos Santos100% (3)
- Prova para A Admissão de LençoDocumento3 páginasProva para A Admissão de LençoEva33% (3)
- 193 Transitar Sobre Marcas de CanalizaçãoDocumento4 páginas193 Transitar Sobre Marcas de CanalizaçãoDEGOAinda não há avaliações
- Capítulo 1 Um Espelho para A HumanidadeDocumento15 páginasCapítulo 1 Um Espelho para A Humanidadeterradomar67% (3)
- Ética no uso de animais em atividades científicas e acadêmicasNo EverandÉtica no uso de animais em atividades científicas e acadêmicasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Livro Bayley - Padrões de Policiamento - Páginas 117 A 143Documento39 páginasLivro Bayley - Padrões de Policiamento - Páginas 117 A 143LeninSP100% (1)
- Etica Ambiental PortugueseDocumento15 páginasEtica Ambiental PortugueseTarcisio Augusto Alves SilvaAinda não há avaliações
- 0023 4834 1986 1 1 - CompressedDocumento22 páginas0023 4834 1986 1 1 - CompressedbibliotecanataliecoelhoAinda não há avaliações
- Ciencia e Meio AmbienteDocumento5 páginasCiencia e Meio AmbienteCatarina Pedralva TrintaAinda não há avaliações
- Biocentrimos 2Documento13 páginasBiocentrimos 2Carlos GaleriaAinda não há avaliações
- Artigo 2 Do 2 - BIOÉTICA GLOBAL - 2019Documento15 páginasArtigo 2 Do 2 - BIOÉTICA GLOBAL - 2019Algol AFAinda não há avaliações
- 2001 Etica Ecologica e Bioetica AmbientalDocumento90 páginas2001 Etica Ecologica e Bioetica AmbientalAlexandre OctavioAinda não há avaliações
- Ética e EcologiaDocumento2 páginasÉtica e Ecologiamarcelaa88100% (1)
- Trabalho de ÉticaDocumento4 páginasTrabalho de ÉticaALAINE SILVA DE MELOAinda não há avaliações
- Ética e Meio AmbienteDocumento5 páginasÉtica e Meio AmbienteIzabela MonteiroAinda não há avaliações
- Ainda Uma Vez A Ética e A Ética AmbientalDocumento8 páginasAinda Uma Vez A Ética e A Ética AmbientalCaio_GoisAinda não há avaliações
- Noções de BioéticaDocumento7 páginasNoções de Bioéticamairrcon100% (1)
- Demografia e Ecologia HumanaDocumento7 páginasDemografia e Ecologia Humanaalexcostanovo100% (1)
- Problemas de Etica e BioeticaDocumento15 páginasProblemas de Etica e BioeticamilenaAinda não há avaliações
- Crescimento Demografico e Meio AmbienteDocumento7 páginasCrescimento Demografico e Meio AmbienteAlberto SaicaAinda não há avaliações
- BIB Bib9303 2020 - MAY PDFDocumento25 páginasBIB Bib9303 2020 - MAY PDFLuciana dos SantosAinda não há avaliações
- Sustainability Sciences Political and Epistemological Approaches - Oxford - 2017Documento14 páginasSustainability Sciences Political and Epistemological Approaches - Oxford - 2017Márcia KravetzAinda não há avaliações
- Antropologia Cultural IntroducaoDocumento21 páginasAntropologia Cultural IntroducaoJairo Menes BrizolaAinda não há avaliações
- Antropologia JurídicaDocumento177 páginasAntropologia JurídicaRicardo CarvalhoAinda não há avaliações
- Ética AmbientalDocumento32 páginasÉtica AmbientalneibetoAinda não há avaliações
- Resumo BioéticaDocumento11 páginasResumo Bioética369741Ainda não há avaliações
- Ensaio FilosóficoDocumento3 páginasEnsaio FilosóficoDiogo DiasAinda não há avaliações
- Etica BiocentricaDocumento13 páginasEtica BiocentricasoulpassengerAinda não há avaliações
- Escola de Teologia Claudio Franca Apostila de AntropologiaDocumento29 páginasEscola de Teologia Claudio Franca Apostila de AntropologiaGiovanna TahanAinda não há avaliações
- A Existência de Deus Não É Do Domínio Da CiênciaDocumento3 páginasA Existência de Deus Não É Do Domínio Da CiênciaTomás Guerreiro GomesAinda não há avaliações
- A Filosofia Científica e Os Limites Da CiênciaDocumento6 páginasA Filosofia Científica e Os Limites Da CiênciaRonaldo AlvesAinda não há avaliações
- Capítulo 2 - Ética Ecológica - Wolfang. Ingo Sarlet.Documento34 páginasCapítulo 2 - Ética Ecológica - Wolfang. Ingo Sarlet.Salissa JordanaAinda não há avaliações
- A Ciência e A ÉticaDocumento2 páginasA Ciência e A ÉticaBruna OlíviaAinda não há avaliações
- Livro de Ecologia HumanaDocumento133 páginasLivro de Ecologia HumanaAugusto Lourenco100% (1)
- Capítulo 1Documento16 páginasCapítulo 1Fabio ColtroAinda não há avaliações
- Web Aula 1Documento8 páginasWeb Aula 1Rogerio Almeida RangelAinda não há avaliações
- Trabalho de Ética e AxiologiaDocumento7 páginasTrabalho de Ética e AxiologiaDiogo André Costa RodriguesAinda não há avaliações
- Bioética. Origens e Significados 2019-2020Documento2 páginasBioética. Origens e Significados 2019-2020Rui Da VeigaAinda não há avaliações
- Olinto PegoraroDocumento7 páginasOlinto PegoraroAngela DeanAinda não há avaliações
- Aula 1 PDFDocumento12 páginasAula 1 PDFJunior QuintanaAinda não há avaliações
- Saber Oque Está Distante 1BDocumento8 páginasSaber Oque Está Distante 1BDae EscolarAinda não há avaliações
- Metodologia Da Pesquisa 1Documento23 páginasMetodologia Da Pesquisa 1luizaAinda não há avaliações
- Zoologia-Geral - pdf2018 (Reparado)Documento78 páginasZoologia-Geral - pdf2018 (Reparado)Miguel Eusebio MaluaAinda não há avaliações
- A Existência de Deus Não É Do Domínio Da CiênciaDocumento4 páginasA Existência de Deus Não É Do Domínio Da CiênciaTomás Guerreiro GomesAinda não há avaliações
- Resenha Antropologia 12Documento8 páginasResenha Antropologia 12Pedro Jorge JorgeAinda não há avaliações
- Resumo 3 - AnoDocumento4 páginasResumo 3 - AnoJoão Lucas Martins NunesAinda não há avaliações
- Aula 2 - História Da Bioética - AutalDocumento19 páginasAula 2 - História Da Bioética - AutalMarciano SantosAinda não há avaliações
- Limites e Ecologia Do SaberDocumento11 páginasLimites e Ecologia Do Saberosnildo carvalhoAinda não há avaliações
- Interpretaes Da Crise e As TonalidadesDocumento15 páginasInterpretaes Da Crise e As TonalidadesEmili AraujoAinda não há avaliações
- Homo Ecologicus - Educação Ambiental, Ecologia e SustentabilidadeDocumento179 páginasHomo Ecologicus - Educação Ambiental, Ecologia e Sustentabilidademarcelopelizzoli100% (4)
- OLIVEIRA e ANJOS FILHO - Bioética e Pesquisas em Seres HumanosDocumento41 páginasOLIVEIRA e ANJOS FILHO - Bioética e Pesquisas em Seres HumanosPaulo Henrique MessiasAinda não há avaliações
- Bioética: ResumoDocumento2 páginasBioética: ResumoMargarida MirandaAinda não há avaliações
- Historico Da BioeticaDocumento7 páginasHistorico Da BioeticaLidian RibeiroAinda não há avaliações
- Homem e Consciência EcológicaDocumento41 páginasHomem e Consciência EcológicaconceicaobelfortAinda não há avaliações
- Unid 04Documento19 páginasUnid 04Gabriel SantosAinda não há avaliações
- História Ciências NaturaisDocumento6 páginasHistória Ciências NaturaisLuana VidalAinda não há avaliações
- Educação Ambiental Educar Ou InformarDocumento7 páginasEducação Ambiental Educar Ou InformarFabio BatistaAinda não há avaliações
- Marcos Pellizzoli, Correntes Da Ética Ambiental. Ed. Petrópolis Vozes 2004Documento121 páginasMarcos Pellizzoli, Correntes Da Ética Ambiental. Ed. Petrópolis Vozes 2004Karlos MacielAinda não há avaliações
- Etologia HumanaDocumento6 páginasEtologia HumanaRafael Reis Claudino100% (1)
- Conceitos e Fundamentos Gerais Sobre Ecologia PDFDocumento259 páginasConceitos e Fundamentos Gerais Sobre Ecologia PDFMarcelo MarcosAinda não há avaliações
- Ideologias de Linguagem - Uma Breve Discussão Acerca Da Mudança de Paradigmas Nas Ciências e No Ensino Da LinguagemDocumento21 páginasIdeologias de Linguagem - Uma Breve Discussão Acerca Da Mudança de Paradigmas Nas Ciências e No Ensino Da LinguagemWillian GonçalvesAinda não há avaliações
- Aula 1-2 - Introdução À Segurança Do TrabalhoDocumento34 páginasAula 1-2 - Introdução À Segurança Do TrabalhoIgor MachadoAinda não há avaliações
- O Transporte Aereo 2º Ano Geo Com Resposta 1Documento1 páginaO Transporte Aereo 2º Ano Geo Com Resposta 1richard_junior2Ainda não há avaliações
- 2 ETAPA - Ficha de Acompanhamento Do EstágioDocumento5 páginas2 ETAPA - Ficha de Acompanhamento Do EstágioClemilda SantosAinda não há avaliações
- 8 Ano PORTUGUèS Ativ. 06 Vozes Do VerboDocumento15 páginas8 Ano PORTUGUèS Ativ. 06 Vozes Do Verbovanuzagomes714Ainda não há avaliações
- Arte Romana 1ºano 1º Bimestre 2023Documento48 páginasArte Romana 1ºano 1º Bimestre 2023ferpschdrAinda não há avaliações
- EI 05 Circuitos Monofásicos e Trifásicos IIIDocumento35 páginasEI 05 Circuitos Monofásicos e Trifásicos IIIJose BatistaAinda não há avaliações
- Cifra Club - Clara Nunes - Conto de AreiaDocumento3 páginasCifra Club - Clara Nunes - Conto de AreiaJéssica ReisAinda não há avaliações
- Manual Preenchimento Estagios - Tutelados - Ficha Capa e MeioDocumento8 páginasManual Preenchimento Estagios - Tutelados - Ficha Capa e MeioTrabalhos AcademicosAinda não há avaliações
- Eterno Retorno Do Fascismo de Rob Riemen - JCA - ENSAIODocumento2 páginasEterno Retorno Do Fascismo de Rob Riemen - JCA - ENSAIOJosé Carlos S. de AlmeidaAinda não há avaliações
- O Que Podemos Aprender Do Pacto Que Josué Fez Com Os GibeonitasDocumento2 páginasO Que Podemos Aprender Do Pacto Que Josué Fez Com Os GibeonitasNilsonSenaAinda não há avaliações
- Estágio Supervisionado Na Educação de Jovens e AdultosDocumento2 páginasEstágio Supervisionado Na Educação de Jovens e AdultosrhannabrtAinda não há avaliações
- Midiologia SubliminarDocumento5 páginasMidiologia Subliminarurbano-cerqueira-matos-junior-2850Ainda não há avaliações
- O Papa Disse Que Quer A ConfusãoDocumento4 páginasO Papa Disse Que Quer A ConfusãoPaulo ValençaAinda não há avaliações
- AULA 01 - Noções de Gestão de Pessoas P - TRTs - Técnico Judiciário - Área AdministrativaDocumento56 páginasAULA 01 - Noções de Gestão de Pessoas P - TRTs - Técnico Judiciário - Área AdministrativaKayque SantosAinda não há avaliações
- População Da ÁsiaDocumento2 páginasPopulação Da ÁsiaGILBERTO RODRIGUESAinda não há avaliações
- Panfleto S E LivrearbitrioDocumento3 páginasPanfleto S E LivrearbitrioMonicaAinda não há avaliações
- WWW Psicoexistencial Com BRDocumento4 páginasWWW Psicoexistencial Com BRRollAinda não há avaliações
- Arcanjo SamuelDocumento5 páginasArcanjo Samuelsrwsalone100% (1)
- 4o Ano Geografia Bimestre 3 Proposta ADocumento82 páginas4o Ano Geografia Bimestre 3 Proposta ALuciana Santana CoelhoAinda não há avaliações
- Estratégias EstéticaDocumento7 páginasEstratégias EstéticaCamila Vilas BoasAinda não há avaliações
- A Nau de Quixibá - Alexandre Pinheiro TorresDocumento117 páginasA Nau de Quixibá - Alexandre Pinheiro TorrespossidonioffAinda não há avaliações
- WENDELL LÉO CASTELLANO - Materias e Gestão de PessoasDocumento5 páginasWENDELL LÉO CASTELLANO - Materias e Gestão de PessoasCrewsvaldoAinda não há avaliações
- SemaDocumento2 páginasSemaLéo SantosAinda não há avaliações
- Curso 17020 2012 Organismos PDFDocumento120 páginasCurso 17020 2012 Organismos PDFSimone Peixoto100% (1)
- Filosofia e Ética - EbookDocumento140 páginasFilosofia e Ética - EbookDaniel OliveiraAinda não há avaliações
- Slides - Dissertação 26 01Documento23 páginasSlides - Dissertação 26 01Wanessa OliveiraAinda não há avaliações