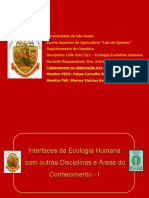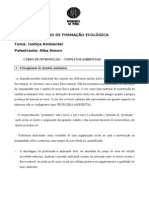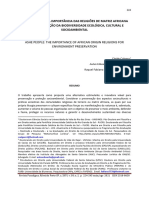Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Flora e Fauna
Flora e Fauna
Enviado por
Thiago Cunha MoreiraDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Flora e Fauna
Flora e Fauna
Enviado por
Thiago Cunha MoreiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ISSN: 1982-1956
TICA AMBIENTAL, SISTEMA AGRCOLA E PAISAGEM CULTURAL NA MATA ATLNTICA NO SUDESTE BRASILEIRO1 THIQUE ENVIRONNEMENTALE, SYSTME AGRICOLE ET PAYSAGE CULTUREL DANS LE FLORT ALTANTIQUE DANS LE SUD-EST BRESILIEN ENVIRONMENTAL ETHICS, FARMING SYSTEM AND CULTURAL LANDSCAPE IN THE ATLANTIC FOREST IN THE BRAZILIAN SOUTHEAST
Scott William Hoefle
D.Phil., University of Oxford (1983) Laboratrio de Gesto do Territrio - LAGET Departamento de Geografia IGEO Universidade Federal do Rio de Janeiro Av. Epitacio Pessoa 3872, apto. 904, 22471003b Rio de Janeiro RJ E-mail: scotthoefle@acd.ufrj.br
Resumo
A relao entre ambiente, sistema agrcola e paisagem cultural examinada atravs do conceito da tica ambiental da Ecologia Radical e do modelo de desenvolvimento sustentvel da Ecologia Poltica, com o intuito de avaliar como a combinao dessas duas abordagens pode oferecer uma explicao mais complexa dos processos de mudana tcnica, apropriao de recursos naturais e transformao social de que aquelas encontradas no Estruturalismo, Marxismo e Darwinismo Econmico ou na Ecologia Espiritual. Diferentes tipos de ticas ambientais e modelos de desencantamento de viso do mundo presentes na literatura so apresentados, servindo de base de avaliao do estudo de caso sobre a percepo ambiental na Zona Serrana Fluminense. Inicialmente, retrata-se o impacto ambiental de novos sistemas agrcolas na rea de estudo e a mudana na valorizao da zona rural e urbana expressa na percepo espacial da populao rural. Depois, analisa-se a influncia de diferentes sistemas agrcolas e vises de mundo religiosas na domesticao da paisagem e na percepo da biodiversidade. Finalmente, relaciona-se a tica ambiental prtica agrcola, visando pesquisa e a extenso rural participativa. Questionam-se no trabalho vises deterministas da relao linear entre mudana tcnica, desflorestamento e viso de mundo e argumenta-se que uma sntese entre a Ecologia Radical e a Ecologia Poltica capta melhor a complexidade ambiental e cultural presente em reas da Mata Atlntica.
Palavras Chaves: tica ambiental, sistema agrcola, paisagem cultural, Mata Atlntica. Resum
Pesquisa financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq - Brasil), Empresa Brasileira de Pesquisa Agrcola (EMBRAPA - Brasil), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP Brasil) e Instituto Interamericano para a Cooperao Agrcola (IICA - Internacional). Verses preliminares foram apresentadas em palestras na 1 Reunio da International Association of Landscape Ecology Brasil em 2007 e na Semana de Geografia da Universidade Catlica Dom Bosco em 2008.
1
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
22
ISSN: 1982-1956
La relation entre lenvironnement, systme agricole e paysage cultural est examine base sur le concept de lthique environnementale de la Ecologie Radicale e le modle de dveloppement durable de la Ecologie Politique. Lobjetiv du travail est evaluer comment la combination de ces deux perspectives peuvent offrir uma explanation plus complexe du procs de changement technical, dappropriation des recurs naturels e la transformation sociale de que les explanations postules par lEstructuralisme, le Marxisme e le Darwinisme Economiques ou par la Ecologie Spirituelle. Au dbut, diferentes types de thiques environnementales et modles de desenchantement sont presents et ils sont utiliss pour evaluer la perception du environnement en la Zone des Montagnes Fluminenses . En suivente, limpact environnemental des nouvaux systmes agricoles est analis et le changement dattitude sur lespace rural et urbain est prsent. Aprs, linfluence des systmes agricoles et de la rligion sur le procs de domestication du paysage et sur la perception de biodiversit est trate. En conclusion, lthique environnementale est relacione pratique agricole et est indique sa importance pour lxtension et la recherche rurales participatives. Pendant tout le travail les visions deterministes sur la rlation linear entre le changement technologique, la deforestation et la mundividence sont rejetes vis--vis un syntse thorique de la Ecologia Radicale e la Ecologie Politique, que pris meilleux la complexit culturale et environnementale du Flort Altantique Brsilien. Mots-Cles: thique environnementale, systme agricole, paysage cultural, Flort Altantique Brsilien.
Abstract
The relationship between environment, farming system and cultural landscape is examined using the concept of environmental ethics from Radical Ecology and the model of sustainable development from Political Ecology, with the objective of evaluating how the combination of these two theoretical perspectives offers a more complex explanation of technical change, natural resource appropriation and social transformation than those present in Economic Structuralism, Marxism and Darwinism or in Spiritual Ecology approaches. Different environmental ethics and models of worldview disenchantment present in the literature are reviewed and then evaluated in the case study on environment perception in the Fluminense Mountains. First, the environmental impact of new farming systems in the study area is presented, followed by changing value judgments of urban and rural areas as expressed in spatial perception. Then, the influence of different farming systems and religious worldviews on landscape domestication and on the perception of biodiversity is evaluated. Finally, environmental ethics are related to farming practices and shown to represent the basis of participatory rural extension and research. Throughout the article deterministic views of a linear relationship between technical change, deforestation and worldview are eschewed in favor of a synthesis of Radical and Political Ecology, which better captures the environmental and cultural complexity present in the Brazilian Atlantic Forest. KeyWords: environmental ethics, farming systems, cultural landscape, Brazilian Atlantic Forest.
tica Ambiental Encantada e Desencantada
Como parte da reavaliao da importncia de viso de mundo para a percepo ambiental, Ambientalistas Radicais, e Ecologistas Espirituais em particular, tm ressuscitado e adaptado idias evolucionistas do sculo XIX sobre animismo bem como teorias weberianas sobre a importncia da ideologia e tica para definir a apropriao de recursos naturais. Nessa literatura, so contrastadas: 1) a viso de mundo mecanicista da Cincia moderna e o capitalismo laissez-faire, baseados na tica ambiental egocntrica do bem individual, sobrepondo o bem da sociedade e o bem da Natureza, com
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
23
ISSN: 1982-1956
2) a tica homo-ecocntrica, viso de mundo europia pr-moderna, no-ocidental e da Ecologia Radical contempornea. Para a tica homo-ecocnica a Natureza considerada uma entidade orgnica e viva com qual humanos mantm relaes recpricas, fazendo com que o bem da sociedade e do ecossistema inteiro supram o bem individual, resultando em nveis menores de degradao ambiental e de desigualdade social (MERCHANT, 2005; PEPPER, 1996). Em vises do mundo encantadas, a Natureza no dividida em fenmeno material-fsico versus spiritual-metafsico ou orgnico-vital versus inorgnica-no-vital (Figura 1). No s humanos, a fauna e a flora so organismos vivos, mas tambm a terra, a gua e at pedras podem ser consideradas entidades que possuem atributos vitais. Conseqentemente, os humanos no so seres apartes, mas sim, intimamente ligados a uma terra holstica, cuja vitalidade deve ser conservada ativamente. Alm disso, as esferas naturais, sociais e espirituais so interconectadas e no consideradas como mundos apartes. A Natureza animada por entidades espirituais, com quem os humanos precisam interagir em reciprocidade, ao mesmo tempo que o contato com os ancestrais no cortado com a morte. A inveja das almas dos ancestrais, dos espritos do mato e dos moradores da mesma aldeia, por sua vez, limita o egosmo individual, porque a pessoa que ignora suas obrigaes familiares e comunitrias para poder se enriquecer aos custos dos outros acusado de bruxaria. Sendo assim, a viso de mundo serve como escudo ideolgico evitando a ruptura do equilbrio sociedadenatureza em sociedades frias que negam a transformao histrica (EVANS-PRITICHARD, 1937; LVI-STRAUSS, 1969; REICHEL-DOLMATOFF, 1976; SAHLINS, 1966; SCHNEIDER, 1990; THOMPSON, 1995). Desencantamento, por sua vez, promove uma separao radical do Outro Mundo de Este Mundo e da esfera silvestre da esfera humana-social. Historicamente, esse processo se deu em duas fases. Primeiro, com o surgimento do Espiritualismo Bifurcado na Antiguidade, contato direto entre as diferentes esferas cortado, hierarquia introduzida e os espritos so destilados em grupos rivais, liderados por entes divinos, nitidamente representando o Bem e o Mal. Como esses entes s interferem indiretamente no mundo, noes de reciprocidade entre humanos e espritos Deste Mundo so abandonadas. Esta transformao de viso de mundo coincidiu com a emergncia do Estado e da sociedade de casta-classe, abrindo caminho para a utilizao mais intensiva e desigual dos recursos naturais e humanos, promovendo a domesticao da paisagem e a desigualdade social (GAUCHET, 1997; SERVICE, 1976; SCHNEIDER, 1990; TRIGGER, 2003). Em segundo momento, o desenvolvimento da cincia quantitativa, reducionista e mecanicista refora a tendncia ao desencantamento, disseminando entre a elite intelectual uma viso materialista do mundo que separa radicalmente a sociedade humana da Natureza, dividindo essa em fenmeno orgnico e inorgnico e eliminando completamente a crena na interferncia de entes espirituais em processos naturais ou mesma a crena na sua prpria existncia. A educao universal
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
24
ISSN: 1982-1956
pblica do sculo XX, por sua vez, instilou a cosmologia modernista entre toda a populao nos pases industriais. Na escola o aluno aprende que a crena em entes espirituais superstio e mera folclore. Sem a noo de reciprocidade com os espritos do mato, a floresta eliminada. Sem o contrapeso de inveja e das obrigaes mtuas entre parentes, ancestrais e membros da comunidade, o caminho est livre para a apropriao individual dos recursos baseada em tica ambiental ego-cntrica (CROSBY, 1997; GAUCHET, 1997; MERCHANT, 2005; SCHNEIDER, 1990). Na literatura existem dois modelos histricos opostos para explicar o processo de desencantamento: 1) o do Estruturalismo, Neo-Marxismo e Neo-Darwinismo Econmico e 2) o da tica protestante hoje resgatada na Ecologia Espiritual (Figura 2). Ambos modelos so deterministas, o primeiro privilegiando a inovao tecno-econmica como causa nica da transformao ambiental e social enquanto o segundo destaca a importncia de mudanas ideolgicas que promovem a secularizao da viso de mundo perante Natureza. O modelo que privilegia a modernizao tcnica se inspira na literatura clssica marxista e em uma vertente do pensamento weberiano da teoria de organizao econmica e social. A transformao de reas naturais florestadas em espaos agrrios e urbanos vista como um processo de desenvolvimento das foras produtivas no qual a desigualdade social ocorre em funo do surgimento de uma classe inovadora, detentora dos recursos da terra, do capital e do conhecimento tcnico em excluso ao resto da sociedade. Nesse modelo, a secularizao ideolgica envolve a substituio de religio e outras vises do mundo fundamentadas em agentes espirituais pela viso cientfica com base em fatores materiais e tcnicos que permite o controle e domnio da Natureza [ARON, 1981; FOSTER, 1973(1962); HUNTER, 1969; LONG, 1982; MARX, 1952(1869); WEBER, 1964(1919-20)]. A Ecologia Espiritual se inspira em outra vertente do pensamento weberiano, a da tica protestante [Weber, 1970(1904-5)]. Neste modelo, sucessivas reformas religiosas e, finalmente, o surgimento da Cincia promoveram o desencantamento ideolgico. Sem as limitaes espirituais nas relaes com uma Natureza animista, surge a tica ambiental homo-cntrica, permitindo o desmatamento desenfreado. A eliminao de normas e prticas sociais e intra-comunitrias abre caminho para valores e uso dos recursos de forma individualista, estabelecendo uma tica ambiental ego-cntrica, que se associam adoo de inovaes tecnolgicas com base na acumulao do capital e na explorao humana (Crosby, 1997; Gottlieb, 1996; Schneider, 1990; Thompson, 1995). O recente movimento trans-disciplinar da Ecologia Poltica, por sua vez, surge como uma posio terica alternativa, rejeitando o determinismo linear tecnolgico e ideolgico, em favor da causalidade circular e inter-relacionada, abrangendo, ao mesmo tempo, movimentos poltico-sociais, ideologia, tica ambiental e sistemas econmicos e instituies sociais. Dessa forma, transformaes ambientais e sociais podem ocorrer atravs da modificao de qualquer um dos componentes da cadeia
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
25
ISSN: 1982-1956
de inter-relaes. A exemplo, uma mudana tcnica pode estimular movimentos polticos e sociais, ou, alternativamente, transformaes ideolgicas podem promover uma nova tica ambiental que, por sua vez, provoca modificao tcnica (ATKINSON, 1991; MERCHANT, 2005; PEPPER, 1996; ROBBINS, 2004; ZIMMERER E BASSETT, 2003). Na Zona Serrana Fluminense vermos que mudana econmica provoca desflorestamento que, por sua vez, impacta tica ambiental numa maneira indireta e no-linear, ao mesmo tempo que a mudana ideolgica na forma do ensino secular impacta a viso de mundo numa maneira direita. Assim sendo, uma compreenso mais completa da tica ambiental regional alcanada atravs de uma abordagem sinttica da Ecologia Poltica Radical, que abrange a complexidade dos processos em curso. Figura 1 tica ambiental encantada e desencantada.
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
26
ISSN: 1982-1956
Figura 2 - Modelos contrastantes de transformao scio-ambiental.
Percepo Ambiental e Desenvolvimento Rural Sustentvel A percepo ambiental ocupa uma posio central no desenvolvimento rural sustentvel, ao contrrio dos modelos de desenvolvimento anteriores, nos quais, quando tratada, era considerada de
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
27
ISSN: 1982-1956
maneira negativa, como uma barreira modernizao agrcola, que deveria ser superada, ou, mesmo anulada e substituda por uma viso moderna. Modelos anteriores de desenvolvimento agrcola se apoiaram na transferncia de tecnologia moderna de pases industrializados para pases no-industrializados, num modelo de difuso autoritria e centralizadora "de cima para baixo" e "de centro para a periferia", da indstria para a agricultura e da cidade para o campo. A implementao deste modelo na agricultura resultou no fluxo unidirecional de inovaes na forma de pacotes de modernizao tecnolgica, elaborados por pesquisadores em campos de experimentao e repassados por extensionistas aos agricultores, preferivelmente grandes produtores rurais capazes de atingir economias de escala (Figura 3). Para o recebimento desta tecnologia era necessrio um programa educativo, disseminando entre os produtores uma viso cientfica e homognea do mundo e da agricultura, ajustando comportamentos locais s novas tecnologias, tornando os produtores elementos receptivos e passivos. As tecnologias, tambm, uniformizavam o espao, ajustando-se a qualquer ambiente e tornando o homem independente da natureza que passa a ser controlada e modelada por ele (ARNON, 1981; HAYAMI e RUTTAN, 1971; HUNTER, 1969). Na dcada de 1980 houve uma convergncia entre os crticos dos modelos de transferncia de tecnologia com propostas de eco-desenvolvimento e de desenvolvimento sustentvel como estratgias alternativas. Em vez de privilegiar apenas o desenvolvimento tecno-econmico em moldes ocidentais, o modelo do desenvolvimento rural sustentvel valoriza, sobretudo, os conceitos de diversidade e de flexibilidade, havendo uma multiplicidade de combinaes de fatores produtivos apropriadas a situaes ecolgicas e culturais especficas, a cada produtor, em diferentes localidades e regies do mundo.
Figura 3 Percepo ambiental ignorada no Modelo de Transferncia de Tecnologia Moderna
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
28
ISSN: 1982-1956
Neste modelo, portanto, a percepo do ambiente e viso do mundo dos agricultores passam a ocupar uma posio de suma importncia (Figura 4). Em vez de ser ignorado, o conhecimento do agricultor mobilizado, pois, fornece detalhes cruciais sobre a relao sociedadetecnologia-ambiente ao nvel local, o que, geralmente, so despercebidos ao olhar superficial de indivduos externos quela realidade. Por conhecer profundamente o ambiente e ser um agente de atuao modeladora do mesmo, o agricultor identificado e tratado como um parceiro em gerar prticas agrcolas sustentveis de forma que seu conhecimento o ponto de partida, e no o ponto final, da difuso de inovaes no campo (ALCRON, 1995; CHAMBERS et alli., 1989; CHAMBERS e GHILDYAL, 1984; INGLIS, 1993; JOHNSON, 1992; RICHARDS, 1985). Na pesquisa realizada na Zona Serrana Fluminense investigou-se a influncia da percepo ambiental sobre as prticas agrcolas e a intensidade do uso dos recursos naturais, procurando entender os processos cognitivos da populao rural sobre o comportamento da agricultura e da natureza. Este procedimento abre caminhos para uma melhor interlocuo entre pesquisadores, extensionistas e agricultores no real esprito do desenvolvimento participativo na procura de uma agronomia alternativa e holstica em substituio da agronomia convencional praticada no Brasil que ainda prega o modelo de transferncia de tecnologia e que desconhece a nova literatura agronmica (BURKEY, 1993; CORNWALL et. al., 1993; SCARBOROUGH et. alli., 1997).
Figura 4 Percepo ambiental no Modelo de Desenvolvimento Rural Sustentvel
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
29
ISSN: 1982-1956
Pesquisa Qualitativa Sistemtica da Percepo Ambiental A pesquisa se baseou fundamentalmente em levantamentos de campo, obedecendo a uma seqncia de etapas, partindo do entendimento local de processos biolgicos gerais at chegar percepo do funcionamento de prticas agrcolas especficas e seu impacto nos recursos naturais e na sade dos agricultores. Este procedimento foi aplicado em trs paisagens rurais diferentes, localizadas na Zona Serrana Fluminense nos municpios de Nova Friburgo e Paty do Alferes, visando entender como a percepo ambiental varia de acordo com o sistema agrcola utilizado e com o grau de desmatamento atingido no meio rural (Figura 5). A paisagem desmatada localizada em Paty do Alferes caracterizada pelo quase total desflorestamento do meio local e pela prtica da agricultura capitalizada convencional a base de mecanizao e agro-qumicos por pequenos produtores no plantio comercial do tomate. A paisagem mista localizada em Janela da Andorinha e em So Loureno no municpio de Nova Friburgo, em ambiente de floresta e de campos agrcolas. Alm da agricultura capitalizada convencional nesta paisagem, pratica-se, cada vez mais, a agricultura flexvel contempornea. Neste sistema novo, procura-se diminuir o impacto negativo da mecanizao e dos agro-qumicos na rea cultivada e conservar os recursos naturais atravs do reflorestamento. Ambos sistemas so explorados por pequenos produtores na horticultura diversificada comercial. A paisagem preservada localizada no escarpamento da Serra do Mar em Boa Esperana no municpio de Nova Friburgo. Em rea ainda amplamente florestada, camponeses praticam-se a agricultura de queimada no-capitalizada com limitado uso de insumos agro-qumicos e de implementos agrcolas (Figuras 6, 7). Inicialmente, em Nova Friburgo e em Paty do Alferes, aplicou-se um questionrio geral, numa amostragem aleatria de 175 famlias de produtores rurais distribudas nos dois municpios. Destes levantamentos, obtiveram-se importantes informaes para a anlise da percepo ambiental, tais como os sistemas agrcolas explorados e processos de capitalizao rural; a organizao espacial das propriedades rurais; o ciclo anual de atividades econmicas e sociais; a estrutura familiar e padro de vida; o comportamento e atividades religiosas; e a percepo de sua vida no passado, no presente e perspectivas para o futuro.
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
30
ISSN: 1982-1956
Figura 5 rea de estudo em rea de mata atlntica remanescente na regio Sudeste.
Adaptado de: Dean (1995).
Figura 6 Sistemas agrcolas da Zona Serrana Fluminense
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
31
ISSN: 1982-1956
Figura 7 Paisagens agrcolas da Zona Serrana Fluminense.
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
32
ISSN: 1982-1956
Aps esta etapa, foram selecionadas trs reas de estudo e vinte indivduos em cada para realizar entrevistas de longa durao com informantes selecionados segundo os critrios culturais de idade, sexo e religio; o grau de capitalizao e as condies fundirias, visando entender em profundidade a diversidade dos sistemas populares de percepo do espao social e natural e o relacionamento do homem com a flora e a fauna local. Para a sistematizao do levantamento, as entrevistas obedeceram uma seqncia de cinco etapas: uma especfica sobre etno-biologia, outra sobre viso religiosa e atitude perante ao ambiente, uma terceira sobre a percepo do espao, uma quarta sobre etno-medicina e, finalmente, uma ltima sobre etno-agronomia (Tabela 1).
Tabela 1 Distribuio espacial da amostragem por paisagem pesquisada.
Paisagem Desmatada 20 33 29 19 20 Paisagem Mista 10 22 20 20 10 Paisagem Preservada 18 19 0 20 20
ETAPAS Etno-biologia Cosmologia-ambiente Percepo espacial Etno-medicina Etno-agronomia
Fonte: Pesquisa de campo.
Na investigao da etno-biologia foi realizado um levantamento de todas as espcies da fauna e da flora do conhecimento do informante, investigando-se cada uma delas em termos de suas especifidades perante outras espcies, a sua utilidade para o homem, a posio na cadeia alimentar e o uso social em metforas humano-animal. Este levantamento visou avaliar a variao no conhecimento biolgico de acordo com o grau de domesticao do ambiente local e de acordo com a variao cultural presente entre agricultores. Para a interao cosmologia-ambiente realizaram-se inquritos semelhantes, visando relacionar vises do mundo encantadas e desencantadas intensidade do sistema agrcola utilizado e da explorao dos recursos naturais. Como a rea de estudo uma das mais protestante do pas, a inteno era testar teses neo-weberianas da Ecologia Espiritual sobre a influncia de viso de mundo na modernizao agrcola e no deflorestamento. Quanto percepo espacial obteve-se informaes de como a populao visualiza as diferentes esferas do campo em que vivem, a transio do campo para a cidade e o conhecimento do "mundo maior", o mundo externo ao quotidiano local. Investigou-se como o produtor rural percebe sua interferncia na paisagem local e como ele e seus familiares avaliam sua vida no campo frente vida urbana, visando entender a nova tendncia de permanncia no campo que substituiu o quadro anterior de xodo rural na dcada de 1980. Na etapa sobre etno-medicina objetivou-se entender o sistema global de sade que abrange
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
33
ISSN: 1982-1956
no apenas os seres humanos mas tambm a fauna e flora e entre estes as lavouras e os animais domsticos, conhecendo-se a interferncia direta de conceitos de sade humana nas prticas agropecurias. Foi avaliada se a adoo de tcnicas agrcolas modernas provocaram a mudana na tica ambiental vitalista para a tica ambiental mecanicista-cientfica. No estgio final, sobre a etno-agronomia, procurou-se saber como o agricultor explica o funcionamento dos processos agrcolas e as alteraes e os impactos ambientais de sua prticas e insumos agrcolas na natureza por ele modificada. Neste etapa procurou-se identificar convergncia ou descompasso entre as explicaes de processos agrcolas dos produtores rural, num lado, e, por outro, os agrnomos.
Percepo Espacial da Contra-Urbanizao
Embora ainda na sua fase inicial, a contra-urbanizao ou rurbanizao, est crescendo no pas, particularmente na regio Sudeste. Na dcada de 1980, e como aconteceu nos pases psindustriais a partir de 1970, em funo da descentralizao econmica, dos problemas sociais das grandes cidades e da mudana de valores culturais, as zonas metropolitanas brasileiras perderam muita de seu poder de atrair migrantes da zona rural ou mesmo reter a prpria populao urbana (BRYANT e JOHNSON, 1992; FIELDING, 1990; GUITHER e HALCROW, 1988; ROBINSON, 1990). No estudo da percepo espacial procurou-se investigar como os agricultores locais visualizam os diferentes espaos naturais e sociais, nos quais estabelecem um contnuo no campo, da esfera natural, em reas com menor interferncia humana, s reas de maior interveno e transformao, as roas, os pastos e a prpria esfera domstica em torno da moradia. Investigou-se tambm como a populao percebe o impacto de seus sistemas agrcolas presentes e passados sobre os recursos florestais, hdricos e pedolgicos em meio ambientes diferentes presentes em suas propriedades. Na percepo espacial, identificou-se no campo trs espaos com caractersticas diferentes em termos de cobertura vegetal e tipo de fauna presente, condies trmicas e hdricas, grau de domesticao e tipo de atividade humana praticada: 1) mata, 2) campo aberto e 3) casa (Figura 8).
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
34
ISSN: 1982-1956
Figura 8 - Percepo da paisagem rural.
A mata o espao menos modificado pelo homem. Reconhecem a mata fechada como um ambiente fresco e mido no qual h nascentes de gua. Percebido como "fechado" pela expressa densidade de rvores silvestres de maior porte, apresenta uma diversidade de espcies teis que servem para finalidades distintas como lenha, mouro de cerca, tbuas, etc. Neste ambiente moram os bichos silvestres remanescentes que, eventualmente, so caados por homens jovens, geralmente solteiros, mais por diverso do que por necessidade. O campo aberto um dia j foi mata, mas hoje um espao aberto em rea de capoeira, produtos de alguns anos de pousio, em pasto sujo ou em rea produtiva de lavoura e pasto. O campo aberto limpo, seco e quente. Existem problemas com pragas, especialmente as vrias ervas daninhas invasoras, mas, em comparao com a mata fechada, um ambiente mais propcio para o crescimento das lavouras e dos capins para a criao. Os problemas com pragas so combatidos com defensivos e a questo da secura excessiva resolvida com a irrigao. A terceira esfera do campo a casa, um espao completamente domesticado, consistindo da residncia do agricultor, depsitos, uma horta para o auto-consumo e talvez um curral. Em contraste com a rotao de terras, praticada em campo aberto, a horta e as fruteiras so localizadas perto da casa e continuamente plantadas no mesmo lugar atravs de anos de explorao. Junto com as plantas ornamentais em volta da casa, situam-se numa esfera social feminina de trabalho. Tambm nesta esfera ficam os animais de estimao, os nicos a terem acesso casa e que so meigos para as pessoas que a moram, mas com a funo de proteo atacando os intrusos humanos e no-humanos, neste caso, ratos e outras pestes. Assim sendo, a esfera da casa um espao radicalmente
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
35
ISSN: 1982-1956
transformado, de carter permanente, visando as necessidades domsticas e estticas. A transio do campo para a cidade percebida da mesma forma pela populao rural das trs paisagens independente do grau de desmatamento e do sistema agrcola utilizado. A nica diferena notvel que os agricultores que moram em zonas menos preservadas e mais domesticadas reconhecem um nmero maior de localidades e uma transio menos brusca para o espao urbano. Apesar disso, todos os agricultores e os ex-urbanos enfatizam as vantagens de residir no campo e no consideram a cidade grande um lugar desejvel para morar (Figura 9).
Figura 9 - Contra-urbanizao: a transio rural-urbana visto de Paty do Alferes.
Em termos gerais, o campo visto como um lugar limpo, calmo e pacato. No campo se come bem e muitas vezes isso visto como beno de Deus. Vizinhos geralmente so parentes ou irmos da mesma igreja que ajudam em momentos de preciso. Alguns lugarejos mais afastados podem ter desvantagens como carncia de transporte pblico e de comrcio pouco diversificado, mas, hoje em dia, em geral, no campo h grande nmero de povoados e vilas distribudos pela zona rural que tm muito mais servios pblicos do que vinte anos atrs. Existem linhas de nibus pelo campo, ligando os diferentes cantos do municpio sede e da para os grandes centros urbanos. As sedes municipais tm vrios servios administrativos, financeiros e de sade que no existiam antes, de forma que, nas ltimas dcadas, as desvantagens de morar no campo diminuram substancialmente. Ao mesmo tempo, as vantagens de morar na cidade grande foram superadas pelas desvantagens que surgiram. Hoje, as grandes cidades so vistas como barulhentas com ruas sujas e ar mal cheiroso. H gente demais, muita confuso e violncia. S h pessoas estranhas que em vez de
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
36
ISSN: 1982-1956
ajudar os forasteiros, maltratam ou mesmo os roubam. As grandes cidades ainda tm a vantagem de um comrcio mais competitivo no qual produtos manufaturados podem ser adquiridos por metade do preo do interior. Alm disso, reconhecem que os servios pblicos, especialmente de sade, so melhores do que no interior, mas h gente demais para os servios demandados, fazendo com que as enormes filas so uma barreira ao acesso dos mesmos. Da mesma forma, enquanto existe uma rede maior de transporte pblico, os nibus so lotados, particularmente na hora do movimento. Finalmente, a situao de emprego e renda mudou bastante. No passado recente, havia muita mais oportunidade de emprego nos grandes centros do que no interior, mas isso decaiu, ao ponto que hoje ganha-se menos renda nos empregos de baixa qualificao na cidade do que na horticultura capitalizada na Zona Serrana (BICALHO, 2000). Assim sendo, houve uma revirada na percepo espacial a partir de 1980. Antes valorizava tudo que era urbana enquanto hoje a atitude ambivalente ou mesmo negativa. Dos produtores rurais entrevistados, 82% afirmaram que preferem a vida do campo e 62% no citaram nenhuma desvantagem de morar na zona rural. Etno-Biologia e Perda de Biodiversidade e de Conhecimento Local A etno-biologia o estudo de como diferentes povos classificam a fauna e a flora encontrada no seu ambiente local e como esta classificao difere da taxionomia cientfica. O assunto, hoje, est na ordem do dia uma vez que a etno-biologia ocupa uma posio de destaque na literatura sobre conhecimento ambiental local e propriedade cultural (BERLIN, 1992; GREAVES, 1995; MEDIN e ATRAN, 1999; WARREN, SLIKKERVEER e BROKENSHA, 1995). A anlise da etno-biologia na rea de estudo demonstra haver um baixo nvel de conhecimento da grande biodiversidade da fauna e flora original da Mata Atlntica, tanto em termos quantitativos como qualitativos. Isto se explica pelo alto grau de desmatamento local e modernizao das tcnicas agrcolas que levaram diminuio do nmero de espcies nativas. Restringiu-se o contato dos agricultores com a natureza que perde seu caracter utilitrio perante a crescente domesticao do espao e a intensificao tcnica da agricultura. Em mdia, como era de esperar, agricultores da paisagem desmatada de Paty do Alferes tm conhecimento de apenas 59 espcies da fauna e flora local, enquanto na paisagem mista de Nova Friburgo os agricultores identificaram 100 espcies em mdia e os agricultores pr-modernos da paisagem preservada 105. Contudo, mesmo a cifra de 100 e 105 espcies ainda nmero inexpressivo perante a grande diversidade presente no bioma. Por exemplo, enquanto agricultores identificam em mdia 10 espcies arbreas, botnicos identificaram de 134 a 443 em florestas clmax e de 36 a 138 em floresta secundria de 18 a 25 anos (Oliveira 1999). Alm disso, 43% a 58% de todas as espcies
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
37
ISSN: 1982-1956
apontadas por agricultores so exticas, refletindo a dependncia em sistemas agrcolas baseados em espcies introduzidas. O conhecimento biolgico popular varia bastante em termos de idade, gnero e escolaridade. Os idosos tm maior conhecimento da esfera natural do que jovens do mesmo nvel de escolaridade, refletindo tanto uma experincia de mais anos de vida como, qualitativamente, uma convivncia passada com reas mais expressivas de mata e que j no mais existem (Tabela 2).
Tabela 2 - Conhecimento de nmero de espcies por faixa etria nas paisagens pesquisadas.
Paisagem Desmatada Mista Preservada 10 e abaixo 37 79 n.a. 11-20 49 94 110 21-50 54 103 93 51 e acima 65 111 130
Fonte: Pesquisa de campo.
A princpio h uma relao linear entre escolaridade e conhecimento de espcies, porm, observou-se que a populao idosa, apesar de grande parte analfabeta, identifica um nmero significativo de espcies (Tabela 3).
Tabela 3 - Conhecimento de nmero de espcies por nvel de escolaridade nas paisagens pesquisadas.
Paisagem Desmatada Mista Preservada Analfabeto 60 n.a. 125 Primrio Incompleto 45 91 92 Primrio 48 98 103 Ginsio Incompleto n.a. 105 113
Fonte: Pesquisa de campo.
Os homens, por sua vez, em funo de seu trabalho no campo e de seu contato com os remanescentes de mata, so mais familiarizados com espcies nativas do que as mulheres que, por sua vez, dominam mais as espcies domesticas, particularmente as ervas medicinais (Tabela 4).
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
38
ISSN: 1982-1956
Tabela 4 - Conhecimento de nmero de espcies por gnero nas paisagens pesquisadas.
Grupos de Espcies Bichos do Mato Animais de Fazenda Bichinhos-Insetos Pssaros Peixes rvores do Mato Fruteiras Lavoura e Forrageiras Plantas Ornamentais Plantas Medicinais Desmatada Homen Mulheres s 12 10 6 6 6 6 12 14 6 2 9 5 9 5 11 19 3 9 5 14 Mista Homens Mulheres 11 9 14 14 6 9 16 18 8* 4 11 7 11 12 3 5 11 22 6 17 Preservada Homens Mulheres 12 7 18 14 6 10 10 15 6 7 10 7 15 11 5 8 8 13 7 8
Fonte: Pesquisa de campo. O caso das ervas medicinais ilustrativo de como se perdeu o conhecimento indgena da Mata Atlntica em forte contraste com o rico conhecimento popular no Serto Nordestino e na Amaznia. Todas as ervas so plantadas e foram re-introduzidas por um programa do Fiocruz. Popularmente, so usados nomes de remdios alopatas, como por exemplo novalgina e luftal, para as ervas medicinais com a mesma finalidade.
Desencantamento Religioso, tica Ambiental e Desflorestamento
Na investigao cosmologia-ambiente, que trata a influncia da viso do mundo na intensidade das prticas agrcolas e no grau de desmatamento, conclui-se haver uma relao oposta da esperada em teorias neo-weberianas da Ecologia Espiritual, confirmando posies funcionalistas e marxistas da primazia de mudana tcnica no processo de secularizao de vises do mundo. As teorias neo-weberianas associam o alto grau de domesticao do ambiente a processos de desencantamento do mundo, nos quais de fundamental importncia os preceitos religiosos modernos que disassociam a vida espiritual da vida material, o que ocorre particularmente no protestantismo. Sendo o protestantismo a religio dominante entre os pequenos produtores de Paty do Alferes (45% versus 43% catlico e 12% sem religio), procurou-se conhecer a influncia das regras do comportamento religioso sobre a intensidade do uso da terra e conseqente transformao do espao natural-encantado em espao domesticado-desencantado. Em paisagens pouco preservadas, todos os agricultores, independentes de sua posio religiosa, praticam uma mesma agricultura, altamente capitalizada, utilizam recursos modernos de capital, apresentam alto grau de desmatamento em suas propriedades e seguem uma mesma viso do mundo desencantada. Os agricultores protestantes tm em mdia apenas 7% de sua rea em cobertura
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
39
ISSN: 1982-1956
florestal e os catlicos 15%, diferena esta pouco significativa, pois o desmatamento intenso atingindo mais de 80% de rea nas propriedades, sendo ainda as reas remanescentes de floresta muito dispersas e pequenas, haja visto o tamanho das propriedades em geral com menos de 20 hectares. So poucos os agricultores que possuem uma viso do mundo encantada, na qual se acredita na interferncia de entidades espirituais do mato e do outro mundo nas atividades humanas. Em teoria, era de esperar que os protestantes seriam extremamente hostis crena em seres animistas como caipora-curupira e saci perer e em seres tranformistas como lobisomens e bruxas, e, de fato, s 17% deles acreditam na existncia destes seres. Curiosamente, apenas 6% dos catlicos acreditam nos mesmos de forma que sua viso do mundo mais desencantada do que os prprios protestantes. Em termos da influncia do mau olhado na agricultura, 12% dos catlicos e 10% dos protestantes acreditam nesta crena, demonstrando alto grau de secularizao da viso do mundo de ambos os grupos em relao prtica agrcola (Figura 10).
Figura 10 Curupira e Saci Perer, espritos encantados do campo.
Fonte: capa da Revista da FBCN e de Lobato (1998). S um relato sobre curupira foi encontrado em paisagens de menor preservao, de um rapaz que escutou uma vez que seu av deixava mingau para curupira, mas ele no sabia porque nem o que de fato era curupira. Isso mostra como com o desflorestamento a crena em espritos da floresta rapidamente perdida da tradio oral quando da eliminao de seu ambiente de existncia. Na paisagem preservada de Nova Friburgo, onde existem amplas reas florestais e se pratica a agricultura pr-moderna, h mssica predomnio de catlicos (80% dos entrevistados) e a viso do mundo altamente encantada. Quase todos os agricultores acreditam nos seres animistas (47% acreditam no curupira, 78% no saci e 90% em lobisomem) e na interferncia do mau olhado na prtica
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
40
ISSN: 1982-1956
agrcola (82%). Tambm existem estrias envolvendo a noo da reciprocidade e do controle da caa predatria, semelhantes s encontradas em outras regies do pas a onde ainda existem amplas reas de vegetao nativa, como, por exemplo, no Serto Nordestino (HOEFLE, 1990, 1997) e na Amaznia (SMITH, 1996). Em uma estria quando um caador abate cinco porcos do mato, o curupira aparea e faz reviver quatro dos porcos, s deixando um com o caador e alertando-o que da prxima vez que cace acima de suas necessidades no deixar nenhum preso com ele. Quem pratica a agricultura contempornea em paisagens mistas de Nova Friburgo, por sua vez, tem em mdia 37% de sua propriedade em floresta. Contudo, nenhum destes agricultores, que possuem maior nvel de escolaridade, acreditam em seres encantados, nem na interferncia do mau olhado na agricultura, i. uma vez desencantada, a viso do mundo no volta a ser encontrada novamente apesar da maior presena de rea florestal e isso reforada pela viso de mundo secular propagada na escola. Assim sendo, verifica-se que a razo principal do desmatamento e do subseqente desencantamento o sistema agrcola utilizado e no a viso do mundo religiosa. Contudo, a relao desflorestamento-sistema agrcola no linear. Na maneira que difunde a agricultura contempornea aps de 1980, a rea em mata nas propriedades rurais aumentou. Nos estabelecimentos rurais dos municpios de Nova Friburgo, Petrpolis e Terespolis, havia 22,9% de sua rea em mata em 1980, que passou para 27,5% em 1985 e para 30,4% em 1995/96 (FIBGE, 1980, 1985, 1996). CRUZ et. alli. (2007) confirma o processo de revegetao da mata atlntica em escala macro-regional, com a mata primria e secundria voltando a ocupar cerca de 21% de sua rea original. Esta tendncia repete a experincia dos pases ps-industriais nos quais a intensificao agrcola levou ao abandono das reas agrcolas montanhosas marginais e menos competitivas, de forma que estes pases voltaram a possuir amplas reas em floresta, a onde havia outrora campo agrcola (MATHER e NEEDLE, 1998; WILLIAMS, 1994). Assim sendo, aps sculos de devastao provocada pela agricultura na Mata Atlntica (DEAN, 1995), no final do sculo XX, este setor deixou de ser o vilo no desflorestamento, papel esse que foi assumido pela expanso urbana e pelo veraneio rural. A contradio entre estes setores e a preservao ambiental tanta que a imagem da natureza apropriada, sem maior constrangimento, por empresas imobilirios para vender empreendimentos, essencialmente urbanos com edificaes e monocultura de grama, encravados em plena Mata Atlntica (Figura 11).
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
41
ISSN: 1982-1956
Figura 11 Propaganda de condomnio encravado na mata atlntica.
Etno-Medicina Vitalista
A etno-medicina o estudo interdisciplinar da percepo popular de processos de sade, envolvendo questes da identificao e do tratamento de doena e de conceitos de vida e morte, de forma comparativa entre populaes humanas no mundo (FOSTER, 1994; ROMANUCCI-ROSS et. al., 1983). O que nos interessa aqui focalizar os conceitos populares de doena, vida e morte, entendendo a aplicao de conceitos e processos da sade humana na percepo ambiental e na prtica agrcola, em particular. Em geral, a populao local possui uma viso vitalista-orgnica da natureza que apresenta diferenas significativas da viso mecanicista-cientfica agronmica. Assim sendo, importante compreender os princpios da etno-medicina local, pois, fornecem importantes subsdios para a pesquisa e a extenso rural participativa. Se haja desentendimento da percepo do agricultor quanto aos processos mais bsicos do comportamento da agricultura - a interao entre as culturas e os animais domsticos com o solo e os recursos hdricos - as tentativas de transferir tecnologia so fadadas ao insucesso. A terra para a grande maioria dos agricultores, independente de paisagem, viva, sendo rara encontrar uma explicao mecanista de que o solo elemento inorgnico, de ordem qualitativamente diferente dos outros seres vivos (Figura 12). A viso local tipicamente vitalista. A terra viva porque gera a vida, a gua e os frutos. Como os outros seres vivos, a terra move, respira, come,
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
42
ISSN: 1982-1956
reproduz e recupera suas foras. Alm disso, a terra recebe os seres vivos que morrem, que viram p, e sendo incorporados na terra, depositam sua fora na terra. Como a terra considerada a base de toda a vida, a incorporao dos seres mortos contribui para a recuperao da fonte da vida.
Figura 12 Conceitos da etno-medicina aplicados ao meio-ambiente.
A gua tambm viva e essencial vida na terra. Apenas um informante afirmou que no era viva e outro no sabia dizer. Para os demais, a gua nasce da terra, em nascente, se move e corre morro abaixo. o meio direito de vida para os peixes e outros seres vivos que nela habitam. Junto com a terra, a gua tambm gera vida para as rvores e a lavoura. A gua to viva que devolve o mal que o homem a faz, na forma de enchentes e temporais. Contrariamente, as pedras no so consideradas vivas porque no mexem por fora prpria de seu lugar, deterioram, mas no crescem e so secas de forma que nada cresce nelas. Alguns poucos agricultores possuem opinio inversa de que so vivas. Uma vez que as pedras nascem da terra, que viva, adquirindo esta qualidade por extenso. Algumas so bonitas, e beleza outra caracterstica da vida. Fora da natureza, os objetos fabricados pelo homem so considerados mortos. So mortos por terem um processo de criao e movimento diferente do vital. So objetos fabricados pelo homem e no gerados na terra. So movidos por outra fonte de energia que no natural. Podem ter sido, um dia, seres vivos o que o homem matou para sua utilizao. Dentro deste raciocnio, a lavoura e a criao so seres vivos, sujeitos aos processos naturais que o homem tem que respeitar, mas que quando colhidos ou abatidos, tornam-se objetos que podem ser livremente apropriados sem os constrangimentos ticos com referncia natureza viva.
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
43
ISSN: 1982-1956
O processo de morte de qualquer ser vivo igual, tanto para os homens quanto para os animais e as plantas, envolvendo velhice, doena e acidente. A diferena que o homem cumpre seu destino e morre quando Deus o chama e os animais e plantas no. Independente da causa da morte num determinado momento, todos os seres vivos morrem por doena, envenenamento ou acidente. O processo do ataque de doena o mesmo em qualquer caso e o tratamento base de venenos e remdios, isolamento para evitar contaminao e uma alimentao especial para recuperar as foras. Entre os seres no-humanos, as rvores se destacam por sua resistncia e longevidade. Dificilmente morrem por conta prpria, sendo geralmente o homem que as mata, quando so cortadas para abrir roas ou para a utilizao de sua madeira. Destaca-se na viso vitalista da natureza uma diviso diferente dos fenmenos orgnicos e inorgnicos daquela da viso mecanicista das cincias naturais, na qual o solo e a gua so considerados inorgnicos. Em teoria, uma viso mais abrangente sobre o que considerado orgnico poderia resultar numa tica ambiental de maior respeito natureza. At um certo ponto, isso ocorre, porm, quase todos os agricultores locais possuem uma viso vitalista, independente do sistema agrcola utilizado. Conseqentemente, o vitalismo por si no impede a degradao ambiental provocada pelo sistema agrcola moderno convencional. Assim sendo, como veremos na prxima seo, a importncia da etno-medicina aplicada agricultura reside mais na compreenso das prticas agrcolas locais do que num suposto conservacionismo intrnseco tica ambiental vitalista. Etno-Agronomia Antropocntrica A etno-agronomia o estudo de como o agricultor percebe a funo das diferentes etapas agrcolas por ele praticadas, permitindo conhecermos a lgica de suas aes e comportamento. Entender esta lgica permite reconhecer e avaliar mecanismos de raciocnio iguais ou diferenciados da lgica cientfica, importantes na valorizao ou propostas de mudana de comportamento do agricultor perante prticas usadas erroneamente. Os produtores da Zona Serrana, independente de paisagem e sistema agrcola, identificam duas etapas na produo, uma referente ao preparo da terra e outra aos tratos durante o cultivo, subdivididos em uma srie de passos (Figura 13).
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
44
ISSN: 1982-1956
Figura 13 - Etapas de cultivo identificados pelos agricultores.
O preparo da terra tem como fim facilitar o crescimento da lavoura e suas sub-etapas se agrupam em dois conjuntos de aes, um que permite a penetrao das razes da planta no solo e outro que contribui para o fortalecimento de seu crescimento. O arar, passar o rotativo e molhar a terra visam facilitar o enraizamento das plantas que fundamental para seu posterior crescimento que ocorre atravs da absoro dos alimentos fornecidos pela terra, que pode, por sua vez, ser fortalecida pelo homem. Aplicar o adubo de base significa fortalecer a terra para o crescimento inicial da lavoura e contribui para repor os nutrientes perdidos quando a terra est fraca. A grande maioria dos produtores, independente de paisagem, ara a terra visando "afof-la" de forma a permitir a penetrao das razes da planta no solo, facilitar o trabalho de plantio e revolver a terra para trazer superfcie solo mais frtil e para arejar o solo. Para os produtores modernos de Paty do Alferes, a grande vantagem da arao por trator, que a prtica de 90% dos produtores, a rapidez da execuo do preparo da terra, implicando em menos trabalho envolvido, mesmo se esta prtica provoque forte eroso nas encostas. Um total de 27% dos produtores ainda aponta ser o trator superior ao arado de trao animal no revolvimento da terra e 9% destacam a vantagem do custo menor do preparo da terra feito com trator em comparao com o uso de trao animal. Na agricultura moderna e contempornea de Nova Friburgo, por outro lado, para
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
45
ISSN: 1982-1956
evitar eroso utilizam-se mais arados motorizados em vez de tratores nas baixadas e arado de trao animal nas encostas menos ngremes. O potencial para eroso ainda maior no escarpamento da Serra do Mar onde poucos agricultores pr-modernos utilizam trator ou arado motorizado. H bastante dvida entre os produtores sobre o efeito do calcrio. Na agricultura moderna de Paty do Alferes e na agricultura pr-moderna de Nova Friburgo a maioria dos produtores encara o uso de calcrio como se fosse um tipo de inseticida ou fertilizante ou desconhecem sua funo, apesar de saber que bom utiliz-lo. Isto fica, particularmente, evidente entre os produtores que fazem mais de uma aplicao de calcrio, pois acreditam que ajuda a matar pragas. J na agricultura moderna e contempornea de Nova Friburgo onde a escolaridade dos produtores mais alta predomina a idia de aplicar calcrio para corrigir acidez no solo. Trocando idias com os extensionistas da EMATER, a divergncia de idias ficou esclarecida. Na tentativa de explicar a vantagem de utilizar o calcrio, os extensionistas, alm de fornecer uma explicao agronmica de correo do pH, reforam seus argumentos com explicaes mais acessveis aos produtores como o calcrio matar insetos no solo ou aumentar a fertilidade. Dessas explicaes, os produtores concluram que o calcrio age ou como um remdio (inseticida) ou um adubo, de forma que repetem a dosagem para garantir seu efeito. Este caso mostra a importncia de realizar-se um trabalho paralelo e em intercmbio com os extensionistas para detectar quando h um mal entendimento entre eles e o agricultor, permitindo ajustes na extenso para superar distores detectadas no processo de comunicao entre as duas partes. Conceitos da sade e da sociedade humana so usados para explicar adubao. A adubao de base com esterco tem a funo de dar fora terra com protenas, alimentos, riquezas e vitaminas no caso da terra que j ter sido cultivada. Terra virgem ou terra bruta possui maior fora e, quando necessrio, esta adubao se faz em menor quantidade. Explicam o crescimento das lavouras pela extrao da fora da terra (Figura 14). Entretanto, isto s possvel atravs do contato com a gua, por chuva ou irrigao, que permite dissolver os nutrientes da terra, de forma que a planta possa puxar pela raiz os alimentos da terra. Estes alimentos so puxados em forma lquida, e na planta so vistos pelo sumo que, das razes, so enviados ao caule, folhas e frutos. A raiz se fortifica, o caule engrossa, as folhas aumentam e o fruto encorpa-se.
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
46
ISSN: 1982-1956
Figura 14 - Processo de crescimento das plantas.
Aps o plantio, a lavoura necessita de tratos culturais que visam proteger o seu crescimento, destacando a proteo ao ataque de pragas e insetos, ao ataque de doenas e ao ataque de ervas daninhas. No primeiro caso, o dano diretamente nas plantas uma vez que elas servem de alimento aos insetos, so comidas. No segundo, a planta adoece, enfraquecendo-se at morrer. No terceiro h competio por alimentos entre a lavoura e as ervas daninhas que roubam da lavoura a fora da terra. Os tratos culturais so, portanto, aes humanas defensivas e de contra-ataque para proteger a lavoura. Combinam com estas aes, novas adubaes que vo repor a fora extrada da terra durante o crescimento das plantas. Os inseticidas so chamados de venenos, usados contra inimigos visveis que atacam a lavoura por fora. Os produtores dividem-se em suas explicaes em como funcionam estes venenos. Quase metade deles pensa que o inseticida mata a praga por envenenamento, enquanto outros tantos acham que o mau cheiro que espanta o inseto da lavoura, havendo posies ambguas que juntam as duas idias. Fora os insetos, tudo mais so doenas, que penetram e atacam a lavoura por dentro. Como doena humana so tratadas com remdios (fungicida, bactericida, etc.). Os remdios, ou fortalecem a planta afetada, ou funcionam como escudo entre a planta e as doenas. Em ambos os casos eles acabam afastando a doena da lavoura. Uma parte significativa dos produtores no sabe explicar como o funcionamento dos remdios e os usam porque eliminam o problema.
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
47
ISSN: 1982-1956
O trato cultural mais polmico entre os produtores o uso de herbicidas, mata mato. Dependendo do sistema agrcola, de 47% a 63% dos produtores no utilizam herbicidas, considerando-os danosos lavoura e fora da terra. Mesmo os produtores que aplicam herbicidas reconhecem danos que podem ocorrer lavoura. Consequentemente, 18% dos produtores s usam herbicidas na fase imediata ao preparo da terra e no durante o crescimento da lavoura. Os outros produtores fazem seu uso reconhecendo os problemas envolvidos, mas alegam que a questo de reduzir o trabalho mais importante. Os produtores que no usam herbicida capinam manualmente o mato e fazem uma forrao em volta das plantas, visando resfriar o terreno e, mais tarde, "apodrecendo", vira esterco. As explicaes antropocntricas do sistema de produo tm foco primordial na terra e no comportamento das plantas, que por sua vez entendido por parmetros fisiolgicos e sociais do homem, que o ponto de interface entre a etno-medicina e a etno-agronomia. Fora um termo muito utilizado no sentido de energia, tanto das plantas quanto da terra, e obtida pelas lavouras atravs de alimentos que esto na terra. A energia das plantas provm, portanto, dos alimentos extrados da terra que as fortalece. A fora tambm tem conotao social quando associada riqueza de gente. Sade, doena e morte so outras associaes com o comportamento do organismo humano. Deficincias do organismo so tratadas, portanto, com remdios. So doenas todos os problemas da lavoura cujos agentes causadores so invisveis a olho nu. Manchas nas folhas e frutos so vistas como sintomas de doenas. As pragas so inimigas visveis que destruem ou competem com a planta. A prescrio matar o inimigo ou afast-lo. A planta fortalecida resiste a estes ataques, mas, geralmente, necessria a interveno humana, fornecendo os elementos bsicos para a reao das plantas. Percepo Ambiental Aplicada e Agronomia Alternativa Holstica Nas trs paisagens pesquisadas vimos que o sistema agrcola fundamental para explicar a presena ou ausncia de cobertura florestal e para explicar o encantamento ou desencantamento da viso de mundo. Contudo, independente do sistema agrcola e da viso de mundo religiosa, a tica ambiental permanece vitalista. Conseqentemente, a tica ambiental em si no freia o desflorestamento, como mostra o uso da agricultura moderna convencional em Paty do Alferes apesar da tica vitalista dos produtores. Por outro lado, como o sistema agrcola moderno no transforma a tica ambiental vitalista, novas prticas agrcolas so adotadas em cima dessa viso da natureza e no uma viso mecanicista-cientfica. Esta viso, por sua vez, s encontrada entre produtores com maior nvel de escolaridade, alm da 4a srie primria, coisa rara na rea de estudo (Figura 15).
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
48
ISSN: 1982-1956
Figura 15 - A secularizao da tica ambiental na mata atlntica.
Assim sendo, a importncia de pesquisar a percepo ambiental na Mata Atlntica no reside num suposto esprito conservacionista associado tica vitalista ou a busca de novos remdios nas ervas da Mata Atlntica, mas, sim, na compreenso mtua entre agricultores, extensionistas e pesquisadores agrcolas. A busca de sistemas rurais sustentveis s ter xito atravs da parceria, em p de igualdade, do conhecimento local e cientfico. Para isso, necessrio o surgimento de outra agronomia no Brasil, de cunho alternativo e holstico, dentro do real esprito do desenvolvimento sustentvel. No modelo de transferncia de tecnologia, o pesquisador e extensionista privilegiam o grande produtor que tem o mesmo nvel cultural e viso de natureza. J no modelo de desenvolvimento rural sustentvel, o pesquisador e extensionista precisam empregar uma linguagem acessvel a todos os produtores e para isso necessrio entender a percepo ambiental e etnoagronomia local, que juntas, constituem a tica ambiental no conhecimento local.
Referncias Bibliogrficas
ARNON, I. Modernization of Agriculture in Developing Countries. Chichester : Wiley, 1981. ATKINSON, A. Principles of Political Ecology. London: Belhaven, 1991. BERLIN, B. Ethnobiological Classification. Princeton: Princeton University Press, 1992. BICALHO, A.M.S.M. Economic Sustainability in Metropolitan Vegetable Farming in Brazil. In: J. Pierce (org.). The Reshaping of Rural Ecologies, Economies and Communities, Burnaby: Simon Fraser University, 2000. p. 39-47. BRYANT, C.R. e T.R.R. JOHNSTON Agriculture in the Citys Countryside. London: Belhaven, 1992. BURKEY, S. People First: A Guide to Self-Reliant, Participatory Rural Development. London: Zed, 1993.
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
49
ISSN: 1982-1956
CHAMBERS, R. Challenging the New Professionalism. London: Intermediate Technology, 1994. CHAMBERS, R. e B.P. GHILDYAL. Agricultural Research for Resource-Poor Farmers. IDS Discussion Papers no 203, 1984. CHAMBERS, R., A. PACEY e L.A. THRUPP (eds.). Farmer First. London: Intermediate Technology, 1989. CORNWALL, A., I. GUILJT e A. WELBOURN. Acknowledging process: challenges for agricultural research and extension methodology. IDS Discussion Papers no 333, 1993. CROSBY, A. The Measure of Reality: Quantification and Western Science 1250-1600. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. CRUZ, C.B.M; VICENS, R.S; SEABRA, V.S; REIS, R.B; FABER, O.A; RICHTER, M; RNAULT, M. e ARAJO, P.K. Classificao orientada a objetos no mapeamento dos remanescentes da cobertura vegetal do bioma mata atlntico na escala 1:250.000. XII Simpsio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Florianpolis: INPE, 2007. p.5691-5699. DEAN, W. With Broadaxe and Firebrand: The Destruction of the Brazilian Atlantic Forest. Burkeley: University of California Press, 1995. FIELDING, A.J. Counterurbanisation. In: PINDER, D. (ed). Western Europe. London: Wiley, 1990. p.226-239. FOSTER, G.M. Traditional Cultures: The Impact of Technological Change. New York: Harper and Row, 1973(1962). ________. Hippocrates Latin American Legacy. Amsterdam: OPA, 1994. FUNDAO IBGE. Recenseamento Geral do Brasil: Censo Agropecurio. Rio de Janeiro, 19801996. GAUCHET, M. The Disenchantment of the World. Princeton: Princeton Univ. Press, 1997(1985). GOTTLIEB, R.S. (org.). This Sacred Earth: Religion, Nature, Environment. London: Routledge, 1996. GREAVES, T.C. (org.). Intellectual Property Rights for Indigenous Peoples. Oklahoma City: Society for Applied Anthropology, 1995. GUITHER, H.D. e H.G. HALCROW. The American Farm Crisis. Ann Arbor: Pierian, 1988. HAYAMI, Y. e V.W. RUTTAN. Agricultural Development. Baltimore: Johns Hopkins Press, 1971. HOEFLE, S.W. O Sertanejo e os Bichos: Cognio Ambiental na Zona Semi- rida Nordestina. Revista da Antropologia 33: 47-74, 1990. ________. Mundividncias Encantadas e Desencantadas no Serto do Nordeste Brasileiro. Anlise Social v. 32, n. 1, p. 189-213, 1997.
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
50
ISSN: 1982-1956
HUNTER, G. Modernizing Peasant Societies. London: Oxford University Press, 1969. INGLIS, J. Traditional Ecological Knowledge. London: IDRC, 1993. JOHNSON, M. Lore: Capturing Traditional Environmental Knowledge. London: IDRC, 1992. LVI-STRAUSS, C. The Savage Mind. Chicago: University of Chicago Press, 1969(1963). LINO, C.F. Reserva da Biosera da Mata Atlntica: Plano de Ao. Campinas: UNICAMP, 1992. LOBATO, M. O Sacy Perr. Rio de Janeiro: Fundao Banco do Brasil, 1998(1918). LONG, N. Sociology of Development. London: Metheun, 1982. MALONEY,C. (org.). The Evil Eye. New York: Columbia University Press, 1976. MARX, K. Capital. Chicago: Great Books, 1952(1869). MATHER, A.S. e C.I. NEEDLE. The forest transition. Area v. 30, n. 2, p. 117-124, 1998. MEDIN, D.L. e S. ATRAN (eds.). Folkbiology. Cambridge: MIT Press, 1999. MERCHANT, C. Radical Ecology. London: Routledge, 2005. OLIVEIRA, R.R. O Rastro do Homem na Floresta. Tese de Doutorado, Departmento de Geografia, UFRJ, Rio de Janeiro, 1999. PAULSON, S; L.L. GERZON e M. WATTS. Locating the Political in Political Ecology. Human Organization v. 62, n. 3, p. 205-217, 2003. PEPPER, D. An Introduction to Modern Environmentalism. London: Routledge, 1996. RICHARDS, P. Indigenous Agricultural Revolution. London: Hutchinston, 1985. REICHEL-DOLMATOFF, G. Cosmology as ecological analysis: a view from the rain forest. Man v. 11, n. 3, p. 307-318, 1976. ROBBINS, P. Political Ecology. Oxford: Blackwell, 2004. ROBINSON, G.M. Conflict and Change in the Countryside. London: Belhaven, 1990. ROMANUCCI-ROSS, L; D.E. MOERMAN e L.R. TANCREDI. The Anthropology of Medicine. South Hadley: Bergin & Garvey, 1983. SAHLINS, M. Tribesmen. Englewood Cliffs: Prentice Hal, 1966. SCARBOROUGH, V; S. KILLOUGH, D.A. JOHNSON e J. FARRINGTON. Farmer-Led Extension. London: Intermediate Technology, 1997. SCHNEIDER, J. Spirits and the Spirit of Capitalism. In: BADONE, E. (org.). Religious Orthodoxy and Popular Faith in European Society. Princeton: Princeton University Press, 1990. p. 24-54.
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
51
ISSN: 1982-1956
SERVICE, E. The Rise of the State and Civilization. New York: Norton, 1976. SMITH, N.J.H. The Enchanted Amazonian Rain Forest: Stories From a Vanishing World. Gainesville: University of Florida Press, 1996. SOUZA, L.M. O diabo e a terra de Santa Cruz. So Paulo: Companhia das Letras, 1987. THOMPSON, P.B. The Spirit of the Soil: Agriculture and Environmental Ethics. London: Routledge, 1995. TRIGGER, B. Understanding Early Civilizations. Cambridge: University of Cambridge Press, 2003. URTON, G. (org.). Animal Myths and Metaphors in South America. Salt Lake City: University of Utah Press, 1985. WARREN, D.M., L.J. SLIKKERVEER e D. BROKENSHA (org.). The Cultural Dimension of Development. London: Intermediate Technology, 1995. WILLIAMS, M. The clearing of the forests. In: CONZEN, M.P. (org.). The Making of the American Landscape. London: Routledge, 1994. p.146-168. WEBER, M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Unwin, 1970(1904-5). ________. The Theory of Social and Economic Organization. New York: Free Press, 1964(191920). ZIMMERER, K. e T.J. BASSETT (eds.). Political Ecology: An Integrative Approach to Geography and Environment-Development Studies. New York: Guilford, 2003. Agradecimentos
Pesquisa financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq - Brasil), Empresa Brasileira de Pesquisa Agrcola (EMBRAPA - Brasil), Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP Brasil) e Instituto Interamericano para a Cooperao Agrcola (IICA - Internacional). Verses preliminares foram apresentadas em palestras na 1 Reunio da International Association of Landscape Ecology Brasil em 2007 e na Semana de Geografia da Universidade Catlica Dom Bosco em 2008.
Recebido para publicao em junho de 2009 Aprovado para publicao em setembro de 2009
Ateli Geogrfico
Goinia-GO
v. 3, n. 8
dez/2009
p.22-52
pgina
52
Você também pode gostar
- EEH-aula 15-2015 - Interfaces-1Documento98 páginasEEH-aula 15-2015 - Interfaces-1Jefferson PereiraAinda não há avaliações
- A Ecologia Politica Dos Torronzeiros No Parque Estadual Do CantãoDocumento5 páginasA Ecologia Politica Dos Torronzeiros No Parque Estadual Do CantãoConceição Aparecida PrevieroAinda não há avaliações
- Saber Ecológico Tradicional Da Comunidade Rural Linha Criciumal, Cândido de Abreu - PR: Práticas e Representações Da Fertilidade Das TerrasDocumento27 páginasSaber Ecológico Tradicional Da Comunidade Rural Linha Criciumal, Cândido de Abreu - PR: Práticas e Representações Da Fertilidade Das TerrasJesus Mendoza VazquezAinda não há avaliações
- (Pires e Craveiro, 2011) - Iva Miranda Pires e João Lutas Craveiro - Ética e Prática Da Ecologia Humana - Questões Introdutórias Sobre A Ecologia Humana e A Emergência Dos Riscos Ambientais - 1 EdDocumento32 páginas(Pires e Craveiro, 2011) - Iva Miranda Pires e João Lutas Craveiro - Ética e Prática Da Ecologia Humana - Questões Introdutórias Sobre A Ecologia Humana e A Emergência Dos Riscos Ambientais - 1 EdFelipe Hastenreiter100% (1)
- Direitos da natureza: Ética biocêntrica e políticas ambientaisNo EverandDireitos da natureza: Ética biocêntrica e políticas ambientaisAinda não há avaliações
- 258 335 PBDocumento11 páginas258 335 PBgalafuzAinda não há avaliações
- Paisagens da geomorfologia: Temas e conceitos no século XXINo EverandPaisagens da geomorfologia: Temas e conceitos no século XXINota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- EcologiaGeral UtilizarDocumento126 páginasEcologiaGeral UtilizarEvandro Maia NevesAinda não há avaliações
- A relação pessoa-ambiente nas narrativas dos moradores de uma cidade em transformação: diálogos com a psicologia ambientalNo EverandA relação pessoa-ambiente nas narrativas dos moradores de uma cidade em transformação: diálogos com a psicologia ambientalAinda não há avaliações
- A Concepção de Natureza Na Civilização Ocidental E A Crise AmbientalDocumento10 páginasA Concepção de Natureza Na Civilização Ocidental E A Crise AmbientalbiaAinda não há avaliações
- Construindo A História Ambiental Da América LatinaDocumento19 páginasConstruindo A História Ambiental Da América LatinafscmAinda não há avaliações
- Hoefle ConservaoeIdentidade EC 2021Documento42 páginasHoefle ConservaoeIdentidade EC 2021PaulaFernandesAinda não há avaliações
- Parque Estadual do Rio Preto, Geografia e DiversidadeNo EverandParque Estadual do Rio Preto, Geografia e DiversidadeAinda não há avaliações
- Etica Ambiental PortugueseDocumento15 páginasEtica Ambiental PortugueseTarcisio Augusto Alves SilvaAinda não há avaliações
- Livro de Ecologia HumanaDocumento133 páginasLivro de Ecologia HumanaAugusto Lourenco100% (1)
- Etnobotânica Do Candomble Uma Estrat (Egia para Conserva ) Ap de Remanescente de Mata Atlântica em Salvador e Região Metropolitana PDFDocumento19 páginasEtnobotânica Do Candomble Uma Estrat (Egia para Conserva ) Ap de Remanescente de Mata Atlântica em Salvador e Região Metropolitana PDFMazai Oliveira AzevedoAinda não há avaliações
- Hoefle - Espaço e Cultura - 2021Documento41 páginasHoefle - Espaço e Cultura - 2021PaulaFernandesAinda não há avaliações
- Turismo Ecologico y Ecoturismo PDFDocumento15 páginasTurismo Ecologico y Ecoturismo PDFRIOFAAinda não há avaliações
- Seminário de Biogeografia - A Biogeografia Dos Espaços Livres Urbanos - Alix Gabriel e Rosana OliveiraDocumento28 páginasSeminário de Biogeografia - A Biogeografia Dos Espaços Livres Urbanos - Alix Gabriel e Rosana OliveiraAlix Gabriel Da Silva FerreiraAinda não há avaliações
- Entre As Serras: Etnoecologia em Comunidades - Emmanuel Duarte AlmadaDocumento257 páginasEntre As Serras: Etnoecologia em Comunidades - Emmanuel Duarte AlmadaFlavilio SpAinda não há avaliações
- Ecologias de RaizDocumento5 páginasEcologias de RaizGabriela Castro AlvesAinda não há avaliações
- A Relação Do Homem Com A NaturezaDocumento2 páginasA Relação Do Homem Com A NaturezaJúnior SilvérioAinda não há avaliações
- Ecolo. Ambie.Documento9 páginasEcolo. Ambie.Nelson IntopeAinda não há avaliações
- DCRB EM 1a Versão Itinerário Formativo Integrado - Ciências Da Natureza e Suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais AplicadasDocumento16 páginasDCRB EM 1a Versão Itinerário Formativo Integrado - Ciências Da Natureza e Suas Tecnologias e Ciências Humanas e Sociais AplicadasRafael MaxAinda não há avaliações
- Ecologia AmbientalDocumento11 páginasEcologia AmbientalMicelesAinda não há avaliações
- 2011regiane ArtigoDocumento16 páginas2011regiane ArtigoIlca da Graça DionisioAinda não há avaliações
- História e Meio Ambiente Tempo Passado, Tempo PresenteDocumento91 páginasHistória e Meio Ambiente Tempo Passado, Tempo PresenteTaelonAinda não há avaliações
- Apostila 01 - EcologiaDocumento23 páginasApostila 01 - EcologiaGlauci HoffmannAinda não há avaliações
- Ecoformação e Sustentabilidade PlanetariaDocumento16 páginasEcoformação e Sustentabilidade PlanetariapenfoAinda não há avaliações
- Conc Basicos Ecologia V1Documento69 páginasConc Basicos Ecologia V1RodrigoAinda não há avaliações
- Aula Da Alba SimonDocumento17 páginasAula Da Alba Simonapi-3704111100% (1)
- Ecologia e Gestao Ambiental PDFDocumento14 páginasEcologia e Gestao Ambiental PDFIntacara AdelinoAinda não há avaliações
- 2005PL 021Documento10 páginas2005PL 021cassimo abilio santosAinda não há avaliações
- 3236 Textodoartigo 9066 1 10 20130110.730d1f04f25e4270b988Documento12 páginas3236 Textodoartigo 9066 1 10 20130110.730d1f04f25e4270b988VanessaRodriguesAinda não há avaliações
- Ciencia e Meio AmbienteDocumento5 páginasCiencia e Meio AmbienteCatarina Pedralva TrintaAinda não há avaliações
- Herança Romantica e Ecologismo Contemporaneo - José Augusto PaduaDocumento18 páginasHerança Romantica e Ecologismo Contemporaneo - José Augusto PaduaDiego MachadoAinda não há avaliações
- Introdução Às Ciências AmbientaisDocumento103 páginasIntrodução Às Ciências AmbientaisShän KnupAinda não há avaliações
- Educação e Ciência Da NaturezaDocumento8 páginasEducação e Ciência Da NaturezaBrunaAinda não há avaliações
- Solórzano Et Al. 2018 O Legado Humano Na Paisagem Do Parque Nacional Da Tijuca - Uso, Ocupação e Introdução de Espécies ExóticasDocumento15 páginasSolórzano Et Al. 2018 O Legado Humano Na Paisagem Do Parque Nacional Da Tijuca - Uso, Ocupação e Introdução de Espécies ExóticasAlex SolórzanoAinda não há avaliações
- As Ciencias Sociais e o Enfoque Ecossistêmico em SaúdeDocumento15 páginasAs Ciencias Sociais e o Enfoque Ecossistêmico em SaúdeAlíria NoronhaAinda não há avaliações
- Little 2006Documento19 páginasLittle 2006cecilefolAinda não há avaliações
- EcologiaDocumento11 páginasEcologiaGildo Afonso GuiambaAinda não há avaliações
- O Povo Do AchéDocumento22 páginasO Povo Do Achéleticiatorres1403Ainda não há avaliações
- 2018 As Contribuições Dos Conhecimentos Tradicionais Indígenas para A Educação Ambiental BrasileirDocumento16 páginas2018 As Contribuições Dos Conhecimentos Tradicionais Indígenas para A Educação Ambiental BrasileirElisangela Castedo MariaAinda não há avaliações
- 3 - J - P - ALMEIRA - História Ambiental - 2011 - 10pDocumento11 páginas3 - J - P - ALMEIRA - História Ambiental - 2011 - 10pIzadora Sant'anaAinda não há avaliações
- Apostila de EcologiaDocumento9 páginasApostila de EcologiaSilvano Wanderley FerreiraAinda não há avaliações
- Ética e Meio AmbienteDocumento5 páginasÉtica e Meio AmbienteIzabela MonteiroAinda não há avaliações
- EPEA 4 OkDocumento23 páginasEPEA 4 OkjudesiqueiraAinda não há avaliações
- MITCHELL - HEIDRICH - Corredores Ecológicos - II NEERDocumento11 páginasMITCHELL - HEIDRICH - Corredores Ecológicos - II NEERÁlvaroLuizHeidrichAinda não há avaliações
- Natanael Reis BomfimDocumento7 páginasNatanael Reis BomfimcalungaramosramosAinda não há avaliações
- A Sustentabilidade Socioeconômica E Ambiental À Luz Da BíbliaNo EverandA Sustentabilidade Socioeconômica E Ambiental À Luz Da BíbliaAinda não há avaliações
- PaisagemDocumento4 páginasPaisagemFrancisco Evaldo Castro Magalhães CearáAinda não há avaliações
- 06 Areas de Ciencias Humanas e Ciencias Da NaturezaDocumento3 páginas06 Areas de Ciencias Humanas e Ciencias Da NaturezaLuiz MarcelAinda não há avaliações
- Trabalho de Ecologia 3Documento8 páginasTrabalho de Ecologia 3rnangadeAinda não há avaliações
- Ehwp 1Documento36 páginasEhwp 1Mairim BiAinda não há avaliações
- Narrativas da Educação Ambiental e do Ambientalismo em um Contexto HistóricoNo EverandNarrativas da Educação Ambiental e do Ambientalismo em um Contexto HistóricoAinda não há avaliações
- Geração Distribuída e Fontes AlternativasDocumento5 páginasGeração Distribuída e Fontes AlternativasTwAinda não há avaliações
- Edital para o CFSD PMRN 2004 - Programa e QuestõesDocumento5 páginasEdital para o CFSD PMRN 2004 - Programa e QuestõesJanildo Da Silva Arantes Arantes100% (1)
- Filosofia Africana para Descolonizar Olhares - Perspectivas para o Ensino Das Relações Étnico-Raciais - Machado - #Tear - Revista de Educação, Ciência e TecnologiaDocumento20 páginasFilosofia Africana para Descolonizar Olhares - Perspectivas para o Ensino Das Relações Étnico-Raciais - Machado - #Tear - Revista de Educação, Ciência e TecnologiaAdilbenia MachadoAinda não há avaliações
- Para Entender Melhor Sobre Economia, É Preciso Conhecer A Lei deDocumento3 páginasPara Entender Melhor Sobre Economia, É Preciso Conhecer A Lei deTitosAinda não há avaliações
- Guia Brasileiro de Produção Cultural 2013-2014Documento22 páginasGuia Brasileiro de Produção Cultural 2013-2014SabrinaMedeiros100% (1)
- FiscalDocumento17 páginasFiscalOrnede ParielaAinda não há avaliações
- Mapas Mentais CPA 20Documento189 páginasMapas Mentais CPA 20barbosalaiane52Ainda não há avaliações
- Giselly Lopes Santana AbreuDocumento64 páginasGiselly Lopes Santana AbreuMayra FerraretoAinda não há avaliações
- Matricianismo Xamanismo UniversalDocumento38 páginasMatricianismo Xamanismo UniversalÁstrid Schein BenderAinda não há avaliações
- Trabalho 2 - HPEDocumento7 páginasTrabalho 2 - HPEalex henriquesAinda não há avaliações
- Reflexão de SNCDocumento5 páginasReflexão de SNCanacristinaroiasAinda não há avaliações
- NPC ProntoDocumento6 páginasNPC ProntoEduardo LourençoAinda não há avaliações
- Supervisão Das Prácticas PedagógicasDocumento14 páginasSupervisão Das Prácticas PedagógicasPuto Nelsinho100% (1)
- Modelo de SolowDocumento30 páginasModelo de SolowNelson NetoAinda não há avaliações
- CP 077785Documento114 páginasCP 077785Sebastião Tiao BolsonaroAinda não há avaliações
- O Paradoxo Da Escolha - Por Que Mais É Menos - Livro 2007 TRADUZIDO GOOGLEDocumento191 páginasO Paradoxo Da Escolha - Por Que Mais É Menos - Livro 2007 TRADUZIDO GOOGLEClaudio Macedo100% (2)
- Modalidade e Sodalidade - Reino & SacerdoteDocumento5 páginasModalidade e Sodalidade - Reino & SacerdoteMaria Eduarda NascimentoAinda não há avaliações
- Cristianismo - Aula 4.Documento16 páginasCristianismo - Aula 4.Edson de SantanaAinda não há avaliações
- FamiliaDocumento12 páginasFamiliaAndré Quissanga Bande FerreiraAinda não há avaliações
- Diretrizes para o Desenvolvimento Sustentável Da Agropecuária BrasileiraDocumento16 páginasDiretrizes para o Desenvolvimento Sustentável Da Agropecuária BrasileiraJanete MioneAinda não há avaliações
- Diferenças Entre o Comércio Internacional e o Comércio ExteriorDocumento2 páginasDiferenças Entre o Comércio Internacional e o Comércio ExteriorClaudia YaraAinda não há avaliações
- Marcelo Bittencourt Leituras Do ColonialismoDocumento20 páginasMarcelo Bittencourt Leituras Do ColonialismoYasmin Hashimoto Tonini100% (1)
- Britain Brasil - 2011Documento80 páginasBritain Brasil - 2011marconcelosAinda não há avaliações
- CPC 06 ResumoDocumento4 páginasCPC 06 ResumoRonaldo BritoAinda não há avaliações
- A Intensificacao Dos Desastres Naturais, As Mudancas Climaticas e o Papel Do Direito AmbientalDocumento16 páginasA Intensificacao Dos Desastres Naturais, As Mudancas Climaticas e o Papel Do Direito AmbientalengmaurocesarAinda não há avaliações
- OT-126 Jose Wellington Carvalho VilarDocumento20 páginasOT-126 Jose Wellington Carvalho VilarGEOGRAFÍA DE COSTA RICAAinda não há avaliações
- Data Gram A Zero, Rio de Janeiro-4 (3) 2003-O Processo de Inteligencia Competitiva em OrganizacoesDocumento21 páginasData Gram A Zero, Rio de Janeiro-4 (3) 2003-O Processo de Inteligencia Competitiva em OrganizacoesMariana AguiarAinda não há avaliações
- A QUALIDADE NO PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2011.2016 (Gestão Do Risco)Documento87 páginasA QUALIDADE NO PLANO NACIONAL DE SAÚDE 2011.2016 (Gestão Do Risco)rxp2007Ainda não há avaliações
- TR PF 01 2022 Consultor em Residuos SolidosDocumento18 páginasTR PF 01 2022 Consultor em Residuos SolidosmateusalmeidacunhaAinda não há avaliações