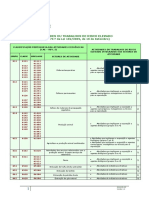Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Do Decisionismo A Teologia Politica
Do Decisionismo A Teologia Politica
Enviado por
macariof1904Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Do Decisionismo A Teologia Politica
Do Decisionismo A Teologia Politica
Enviado por
macariof1904Direitos autorais:
Formatos disponíveis
i i
i i
DO DECISIONISMO TEOLOGIA POLTICA
CARL SCHMITT E O CONCEITO DE SOBERANIA
Alexandre Franco de S
2003
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Covilh, 2009
F ICHA T CNICA Ttulo: Do Decisionismo Teologia Poltica. Carl Schmitt e o Conceito de Soberania Autor: Alexandre Franco de S Coleco: Artigos L USO S OFIA Direco da Coleco: Artur Moro & Jos Rosa Design da Capa: Antnio Rodrigues Tom Composio & Paginao: Jos M. Silva Rosa Universidade da Beira Interior Covilh, 2009
i i i
i i
i i
i i i
i i
i i
Do Decisionismo Teologia Poltica. Carl Schmitt e o Conceito de Soberania
Alexandre Franco de S Universidade de Coimbra
Contedo
Introduo. Os Quatro Captulos para a Doutrina da Soberania 4 O Decisionismo schmittiano 7 Do Decisionismo Teologia Poltica 26
RESUMO
Em Politische Theologie, Carl Schmitt proclama duas teses centrais no seu pensamento poltico: 1) Soberano quem decide sobre o estado de excepo e 2) Todos os conceitos polticos signicativos so conceitos teolgicos secularizados. Apesar de no estarem relacionadas imediatamente, tem de haver uma conexo entre as duas. o estabelecimento desta conexo que constitui o propsito
Publicado originalmente in Revista Portuguesa de Filosoa, vol. 59, fasc. 1, Braga, 2003, pp. 89-111
i i i
i i
i i
Alexandre Franco de S
deste artigo. Na primeira tese, Schmitt defende, contra o normativismo, que o direito no pode ser considerado autonomamente, mas deve sempre remeter para um poder poltico juridicamente ilimitado. Este artigo defende que a segunda tese apresenta a justicao racional do poder poltico ilimitado: este considerado por Schmitt como a mediao poltica e institucional da teologia, a qual, sem a mediao poltica, resultar em fanatismo, irracionalidade, dio e guerra total.
Introduo. Os Quatro Captulos para a Doutrina da Soberania
Em Politische Theologie: Vier Kapitel zur Lehre von der Souvernitt, o pequeno livro de 1922 em que apresenta quatro captulos para a determinao do conceito de soberania, Carl Schmitt prope duas teses que se revelam como centrais no seu pensamento poltico. As duas teses, enunciadas nas duas frases que iniciam respectivamente o primeiro e o terceiro captulos, so as seguintes: Soberano quem decide sobre o estado de excepo1 . Todos os conceitos signicativos da moderna doutrina do Estado so conceitos teolgicos secularizados2 . na formulao de tais teses, assim como no seu desenvolvimento, que Politische Theologie encontra a sua estrutura e o seu o
Carl SCHMITT, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souvernitt, Berlim, Duncker & Humblot, 1996, p. 13. 2 Idem, p. 43.
1
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Do Decisionismo Teologia Poltica
condutor. A obra schmittiana de 1922 surge ento como um livro dividido em duas partes fundamentais, constitudas pelos dois conjuntos formados pela reunio dos dois primeiros e dos dois ltimos captulos. O segundo e o quarto captulos podem ser lidos como uma elaborao no apenas dos captulos imediatamente anteriores, mas sobretudo das teses enunciadas no incio de cada um deles. O segundo captulo intitulado o problema da soberania enquanto problema da forma jurdica e da deciso surge como uma aplicao da denio de soberania apresentada no primeiro, considerando, a partir da sua determinao do soberano como aquele que pode decidir um estado de excepo, as doutrinas jurdicas que, no incio do sculo XX, propunham justamente a considerao do direito como uma norma fundada em si mesma enquanto norma, como uma norma que, longe de se fundar num poder anterior capaz de lhe abrir uma excepo, expele para fora do mbito do direito este mesmo poder, assim como todos os elementos que se vinculam ao carcter subjectivo e pessoal de uma deciso. Do mesmo modo, o quarto captulo intitulado para a losoa do Estado da contrarevoluo procura desenvolver a tese apresentada no terceiro, mostrando como aos conceitos polticos em geral, e aos movimentos polticos decisivos em particular, no pode deixar de estar subjacente uma determinada concepo da natureza do homem, assim como uma determinada viso do mundo e da histria, uma determinada teologia ou metafsica, que a enquadre e possibilite. De acordo com a tese apresentada no terceiro captulo, todos os conceitos e todas as posies polticas decisivas so uma teologia secularizada. Deste modo, eles aparecem no apenas como a expresso de uma determinada viso teolgica, mas tambm j como uma deciso agnica por esta mesma teologia, como uma entrada em combate na defesa da metafsica prpria ou, o que aqui o mesmo, da prpria viso do mundo. Os conceitos polticos so assim, na perspectiva schmittiana, a manifestao da necessidade
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Alexandre Franco de S
de um duplo combate. Por um lado, do combate contra uma metafsica que negue a metafsica prpria. Por outro, do combate contra a neutralidade e a indeciso, contra a cobardia, a comodidade e a resistncia a combater. neste sentido que a losoa poltica da contrarevoluo, abordada a partir de trs autores que nela so decisivos Joseph de Maistre, Louis de Bonald e Jos Donoso Corts , surge para Schmitt como a expresso e o exemplo de um combate que se dirige, ao mesmo tempo, quer contra uma poltica sem metafsica e sem efectiva teologia, contra a fuga romntica da realidade e contra a recusa burguesa da deciso, quer contra a viso do mundo e do homem de uma metafsica revolucionria que surge como a sua prpria negao. Contudo, se a primeira tese proposta por Schmitt constitui o o condutor dos primeiros dois captulos de Politische Theologie, correspondendo a segunda ao o condutor dos dois captulos restantes, torna-se necessrio perguntar pela relao possvel entre as duas teses apresentadas. Se os dois primeiros captulos se articulam em funo da primeira tese, e se os dois ltimos podem ser relacionados em funo da segunda, como possvel articular a unidade constituda pelos dois primeiros captulos de Politische Theologie com a unidade constituda pelos dois ltimos? Dito de outro modo: como possvel relacionar as duas teses schmittianas de Politische Theologie? O problema ganha relevncia a partir da fcil vericao da absoluta heterogeneidade das duas teses propostas. Numa primeira leitura, dir-se-ia que nenhuma relao existe entre a armao de que a soberania consiste na possibilidade de decidir um estado de excepo a uma norma, por um lado, e, por outro, a armao de que todos os conceitos polticos tm uma provenincia teolgica. Contudo, embora a relao entre as duas teses schmittianas no possa deixar de parecer, partida, inexistente, esta mesma relao tem de ser necessariamente pressuposta. Com efeito, se no houvesse uma relao entre as duas teses de Politische Theologie, como poderia ser que os dois conjuntos de dois captulos
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Do Decisionismo Teologia Poltica
que as desenvolvem constitussem a unidade de um nico livro que apresenta quatro captulos para a considerao do conceito de soberania? Assim, partindo do princpio de que entre as duas teses fundamentais armadas em Politische Theologie existe uma relao inevitvel, ainda que no imediatamente perceptvel, o problema da natureza desta relao ter inevitavelmente de ser abordado. E justamente a este problema que se dedica o presente estudo. Se o decisionismo schmittiano, armado na denio da soberania como a possibilidade de abertura de um estado de excepo, remete para a armao da origem teolgica dos conceitos polticos, se os quatros captulos para a doutrina da soberania, publicados em 1922, pressupem entre o decisionismo e a teologia poltica uma relao inevitvel, embora partida inteiramente obscura, trata-se aqui de explicitar e claricar de que modo o decisionismo schmittiano, alicerado na sua denio da soberania como a possibilidade de abertura de um estado de excepo, remete para o horizonte da teologia poltica como uma tese geral sobre o poltico por ele necessariamente implicada.
O Decisionismo schmittiano
Ao determinar a soberania como a possibilidade de decidir um estado de excepo a uma norma, Schmitt apresenta o seu conceito de um modo manifestamente polmico. Longe de ser neutra ou meramente descritiva, uma tal denio do poder soberano surge, de um modo imediato, em contraposio a doutrinas jurdicas classicveis, de um modo geral, como normativistas. Em Politische Theologie, sobretudo a partir da doutrina da soberania do direito, formulada por Krabbe em Die moderne Staatsidee, que a perspectiva normativista contestada. Segundo uma tal perspectiva, o Estado moderno caracteriza-se por uma mudana
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Alexandre Franco de S
fundamental no seu conceito de soberania. Tal mudana consiste na passagem de uma concepo pessoal e subjectiva de soberania, segundo a qual esta deveria residir na pessoa que detm o poder de decretar a lei, para uma sua concepo impessoal e objectiva, segundo a qual a soberania deveria residir na prpria lei. Como escreve Krabbe: J no vivemos agora sob o domnio de pessoas, mas sob o domnio de normas, de foras espirituais. nisso que se manifesta a ideia moderna de Estado3 . Assim, ao determinar a soberania do direito, contrapondo-a soberania daquele que tem o poder de decretar esse mesmo direito, a preocupao do normativismo de Krabbe a de evitar a vinculao do poder soberano ao plano de uma vontade subjectiva e arbitrria, livre de vnculos e de determinaes. O fundamento da preocupao de Krabbe facilmente compreensvel. Se a soberania fosse atribuda a uma pessoa, ela residiria na autoridade de um soberano situado num plano anterior e superior ao da prpria lei, na autoridade de um soberano cuja vontade no poderia deixar de ser, independentemente das qualidades subjectivas do seu carcter, uma vontade essencialmente tirnica. A soberania consistiria ento num arbtrio desvinculado e, consequentemente, na possibilidade de uma autoridade pessoal relativizar, abolir ou suspender as normas que dela emanam. neste sentido que a soberania se determinaria como a possibilidade de, diante da lei, decidir uma excepo norma que por ela constituda. Para evitar um tal arbtrio e, nessa medida, a possibilidade de uma autoridade situada fora e acima da lei, seria necessrio que a soberania coubesse no a uma pessoa, no a uma vontade subjectiva anterior e superior lei, mas prpria lei na objectividade que a caracteriza. Deste modo, tal como assinalada por Krabbe, a soberania, longe de consistir na possibilidade de deciso sobre um estado de excepo, justamente o poder que torna impossvel uma excepo norma ou a sua relativizao. no seguimento da doutrina da soberania do direito de Krabbe
3
KRABBE, Die moderne Staatsidee, cit. por Carl SCHMITT, Idem, p. 30.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Do Decisionismo Teologia Poltica
que Kelsen prope uma circunscrio rigorosa dos conceitos jurdicos, libertando-os de qualquer contaminao sociolgica e emprica e tomando-os numa acepo puramente normativa. Ao determinar o Estado moderno atravs de uma soberania do direito, Krabbe falava ainda da vontade e do poder subjacente ao prprio direito. Na sua perspectiva, subjectividade e arbitrariedade do poder de uma pessoa dever-se-ia substituir a objectividade e normatividade do poder da lei. Kelsen, pelo contrrio, prope-se retirar pura e simplesmente do mbito do direito o plano da vontade ou do poder. Para Kelsen, as referncias a um poder ou a uma vontade da lei no seriam seno vestgios da contaminao do jurdico por um mbito que no o seu. A lei surge aqui como um puro Sollen, um puro dever-ser, uma pura norma que, no tendo qualquer relao com o domnio factcio do ser, no pode encontrar a sua causa seno numa norma fundamental que a origine. Deste modo, o Estado no pode ser considerado juridicamente como o detentor de uma vontade que decide a lei, como o detentor de um poder que, sendo anterior ordem por ele instituda, capaz de causar uma determinada ordem jurdica. E no pode porque, no plano jurdico, o Estado no nada seno a prpria ordem jurdica por ele fundada. A soberania do Estado corresponde assim, na perspectiva de Kelsen, soberania do direito, soberania da ordem jurdica que constitui esse mesmo Estado. Falar do Estado soberano como a causa da ordem jurdica, falar da ordem jurdica como o efeito do Estado enquanto poder soberano, ou seja, falar do Estado como uma entidade diferente do direito, entidade essa que o decide e que, nessa medida, pode tambm decidir suspend-lo, seria hipostasiar o prprio Estado, procedendo a uma duplicao juridicamente intil e racionalmente injusticvel. Para Kelsen, s a partir desta duplicao poderia surgir a representao da soberania como a possibilidade de um Estado soberano decidir abolir ou suspender a lei por ele instituda. Pelo contrrio, se o Estado fosse considerado puramente no plano jurdico, se o Estado deixasse de
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
10
Alexandre Franco de S
ser hipostasiado como uma vontade anterior lei, passando a ser considerado como idntico ao prprio sistema de normas que o constitui, a excepo deixaria imeditamente de poder ser determinada como o indicador da soberania, passando a ser, no plano jurdico, aquilo que pura e simplesmente inexistente, determinvel apenas como um acto arbitrrio, como uma violncia situada sempre fora da lei. A posio de Schmitt diante da proposta de uma soberania do direito, sugerida por Krabbe e por Kelsen, no simples. Ela no pode ser compreendida como uma pura contraposio ou, melhor dizendo, como a sua pura negao, mas como uma tentativa de a considerar seriamente, analisando quer a sua viabilidade no plano terico, quer o problema fundamental a que ela pretende responder. Assim, em primeiro lugar, dir-se-ia que Schmitt recusa, partida, a viabilidade terica da posio normativista. E recusa-a na medida em que uma tal posio corresponderia a uma tentativa de pensar o direito de um modo puramente abstracto, sem considerar a sua aplicao a uma situao concreta, aplicao essa que pela sua realidade sempre inevitavelmente exigida. A posio normativista corresponderia ento tentativa de pensar o direito (Recht) sem a efectivao do direito (Rechtsverwirklichung): e um tal direito permaneceria como algo puramente ideal, como algo no apenas situado fora do plano da existncia, mas despojado da fora ou, o que aqui o mesmo, da deciso que, aplicando-o a uma determinada situao, lhe poderia atribuir efectividade. Por outras palavras, um tal direito puramente ideal seria, uma vez despojado de qualquer contacto com a realidade efectiva, um puro e simples nada. Para Schmitt, ao invs do que Krabbe ou Kelsen propunham, a norma constitutiva do direito no pode ser pensada seno a partir da sua efectivao, isto , a partir da sua aplicao a uma situao existente e, consequentemente, a partir da sua articulao com o poder capaz de decidir esta mesma aplicao. E se, sem a deciso que a efectiva, a norma nada , se a norma, despojada do
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Do Decisionismo Teologia Poltica
11
elemento decisrio, uma pura e simples abstraco, tal quer dizer que esta mesma norma remete sempre para a deciso de uma autoridade que, nessa medida, no pode ser deslocada para fora do mbito jurdico. esta inevitvel remisso da norma ao poder, autoridade que decide a sua aplicao, que Schmitt procura expressar atravs do seu decisionismo. E para a inevitabilidade desta remisso que as principais passagens de Politische Theologie claramente apontam: A forma do direito regida pela ideia do direito e pela necessidade de aplicar um pensamento de direito a um estado de coisas concreto, isto , regida pela efectivao do direito no mais amplo sentido. Como a ideia do direito no se pode efectivar a si mesma, ela precisa, em cada transposio para a efectividade, de uma congurao e de uma formao particulares4 . Dito de outro modo, se o direito no pode deixar de implicar a sua aplicao concreta, se o direito enquanto ideia no pode deixar de exigir a sua aplicao a uma situao concretamente existente, ento a deciso que o aplica e concretiza, longe de ser um elemento exterior, algo intrnseco ao prprio direito, algo para o qual a ideia de direito imediatamente e no de um modo meramente mediato e secundrio remete. Como escreve Schmitt: Que a ideia do direito no se pode transpor a partir de si mesma, isso resulta j de ela nada dizer sobre quem a deve aplicar. Em cada transformao encontra-se uma auctoritas interpositio. No se pode retirar da mera qualidade de direito de um enunciado uma determinao diferenciadora sobre que pessoa individual ou que instncia concreta pode reivindicar para si uma tal autoridade. esta a diculdade que Krabbe constantemente ignora5 . Contudo, se a posio normativista no vivel no plano terico, na medida em que propunha dissociar os dois elementos que, na sua inseparabilidade, constituem a realidade efectiva do direito a deciso, por um lado, e a norma, por outro , elementos esses
4 5
Politische Theologie, p. 35. Idem, p. 37.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
12
Alexandre Franco de S
que so, nessa medida, absolutamente indissociveis, tal no quer dizer que o problema fundamental a que o normativismo pretende dar resposta no se constitua como um problema relevante. Tal problema consiste, como j cou claro, na necessidade de distinguir o direito de um exerccio pura e simplesmente arbitrrio do poder. Quando Krabbe sugere que o Estado moderno se baseia numa soberania do direito, enquanto norma objectiva, abandonando a soberania de uma pessoa, na subjectividade da sua vontade, a sua inteno fundamental a de desvincular a ideia do direito da pura e simples armao de um poder. Na perspectiva de Krabbe, dirse-ia que o direito, no Estado moderno, vale objectivamente, vale por si mesmo, atravs de uma validade intrnseca e imanente, no derivando a sua validade da deciso de uma qualquer pessoa que tenha poder para efectiv-lo e que tambm possa, por essa mesma razo, suspend-lo. Do mesmo modo, quando Kelsen prope uma abordagem pura do direito, argumentando que este no remete para nenhuma realidade de outra ordem, e defendendo que uma norma s pode ter origem numa outra norma que a fundamente e que surja, nessa medida, como uma norma fundamental, a sua inteno tambm a de evitar a denio do direito simplesmente como o resultado ou o efeito imediato da deciso arbitrria de um qualquer poder. Poder-se-ia ento dizer que o normativismo encontra nesta inteno o fundamento da sua posio terica. Sem a sua referncia, a posio terica normativista seria pura e simplesmente ininteligvel. S uma tal inteno poderia justicar uma posio terica que, considerada em si mesma, consiste na tentativa de dissociar o indissocivel, ou seja, na tentativa de considerar a norma jurdica exclusivamente a partir de si mesma, ignorando deliberadamente o elemento decisrio e existencial que, sendo a condio da sua aplicao ou efectivao, nunca pode deixar de ser por ela imediatamente evocado. Se Schmitt no evita a crtica radical da posio terica do normativismo jurdico, tal no quer dizer que ele seja insensvel di-
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Do Decisionismo Teologia Poltica
13
ante da inteno fundamental de que resulta uma tal posio. Com efeito, j no texto que, publicado em 1914, constituiu o seu Habilitationsschrift, apresentado em 1916 na Universidade de Estrasburgo sob o ttulo Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen, Schmitt defende que o direito no pode deixar de ser essencialmente distinto do resultado do exerccio de um poder. Segundo a argumentao schmittiana, se o direito fosse meramente o resultado de uma vontade detentora do poder suciente para o instituir, ento o direito no se poderia diferenciar essencialmente de um qualquer exerccio de violncia; ento como escreve claramente Schmitt o poder do assassino em relao sua vtima e o poder do Estado em relao ao assassino, no seriam, na sua essncia, diferentes6 . Assim, dir-se-ia que, pelo menos desde 1914, Schmitt partilha com o normativismo a exigncia de distinguir radicalmente o direito, por um lado, e o mero exerccio arbitrrio de um poder desvinculado, por outro. Do mesmo modo que para os normativistas, tambm para Schmitt o direito no pode ser determinado como um efeito de uma armao de poder. Passa-se alis justamente o contrrio: o direito que reclama sempre um poder ao seu servio para a sua instituio, aplicao e defesa. Da que seja possvel ler explicitamente em Der Wert des Staates que no o direito que declarado a partir do poder, mas o poder a partir do direito7 . Para Schmitt, do mesmo modo que para o normativismo, um direito que fosse fundado pura e simplesmente na fora ou no poder de quem o decreta seria um direito meramente aparente ou nominal, direito esse que, longe de ser determinado por um princpio de justia e de racionalidade que ideia de direito necessariamente intrnseco, no seria mais do que o fruto de uma vontade arbitrria e tirnica. Assim, o que separa Schmitt da posio do normativismo no aquilo a que se poderia chamar
Carl SCHMITT, Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen, Tbingen, Verlag von J. C. B. Mohr, 1914, p. 16. 7 Idem, p. 24.
6
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
14
Alexandre Franco de S
o estatuto do direito enquanto norma essencialmente racional, ou seja, enquanto norma que no pode deixar de ser essencialmente distinta do decreto emanado de uma mera vontade que ocasionalmente tem o poder de ditar a lei. Pelo contrrio: partilhando com o normativismo a inteno de assegurar ao direito a sua essencial racionalidade, Schmitt contesta no esta exigncia de racionalidade do direito, mas a concluso normativista de que uma tal exigncia implicaria imediatamente uma abordagem da lei como essencialmente desvinculada da deciso que a efectiva. S tendo presente o ponto preciso em que a tese normativista contestada se pode compreender adequadamente a crtica de Schmitt ao normativismo. Uma tal crtica baseia-se em caracterizar a posio normativista no propriamente atravs da reivindicao da racionalidade do direito reivindicao essa de que Schmitt tambm participa , mas atravs da exigncia de que esta racionalidade do direito signique a determinao do poder que o institui como um poder essencialmente limitado. Por outras palavras, a armao que sustenta enquanto tal o normativismo, a armao de que uma norma s pode derivar de uma norma, e no de uma deciso pessoal, subjectiva e existencial, corresponde defesa de que a norma ou a lei, longe de ser dependente do poder detentor da soberania, longe de ser dependente do Estado e do seu poder, no pode deixar de surgir como um limite para o prprio Estado enquanto poder soberano que a constitui. Assim, segundo o normativismo, a racionalidade do direito consiste na exigncia de que a lei se sustente, na sua efectivao e aplicao, no no poder que a decide, mas, pelo contrrio, num segundo poder, o qual, assumindo a incumbncia de guardar e vigiar a aplicao da prpria lei, torna o poder legislador essencialmente limitado e controlado. Para o normativismo, a racionalidade do direito ento imediatamente convertvel na limitao do poder constituinte do prprio direito. Um poder que no tivesse um segundo poder a limit-lo, um poder constituinte de uma lei que no se deparasse com um segundo
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Do Decisionismo Teologia Poltica
15
poder encarregado de guardar essa mesma lei, seria, na perspectiva normativista, um poder essencialmente tirnico e irracional. E exactamente nesta exigncia de limitao do poder constituinte da lei que a crtica schmittiana do normativismo emerge. Se o normativismo correspondia proposta de encarar o poder do Estado legislador como essencialmente limitado atravs de um segundo poder, determinado pela sua incumbncia de guardar a lei, a crtica de Schmitt ao normativismo corresponde contestao desta mesma limitao. Com isso, ela contesta no a exigncia da racionalidade do direito, exigncia essa que, como se disse, Schmitt partilha com o normativismo, mas o estabelecimento de um vnculo imediato entre racionalidade e limitao do poder, vnculo que, esse sim, constitui a essncia da posio normativista. Aquilo a que se poderia chamar a crtica schmittiana limitao do poder do Estado, a crtica que o leva a contestar abertamente o normativismo neokantiano, est, no entanto, j presente desde o aparecimento de Der Wert des Staates. No texto de 1914, Schmitt confronta-se com a contestao catlica doutrina do Estado como nica fonte de poder, assim como com a sua reivindicao para o Papa de uma potestas indirecta diante do poder secular dos Estados. Uma tal reivindicao, decorrente da doutrina tomista, tornase absolutamente manifesta sobretudo em 1864, ano em que o Papa Pio IX, no seu Syllabus, apresenta explicitamente como um erro a doutrina segundo a qual o Estado, sendo a origem e a fonte de todos os direitos, est munido de um certo direito que no circunscrito por quaisquer limites8 . Com a reivindicao de uma potestas indirecta, a Igreja catlica assumia-se ento, diante do Estado enquanto detentor do poder poltico, como uma potncia capaz de o guiar e criticar, reservando para si a possibilidade de discernir, face ao exerccio do seu poder, aquilo que seria o seu exerccio justo ou injusto, correcto ou incorrecto. Apesar no apenas da sua provenincia catlica, mas da armao sempre repetida do seu catoli8
PIO IX, Syllabus, 39.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
16
Alexandre Franco de S
cismo, Schmitt no hesita em contestar esta reivindicao catlica do poder papal como uma potestas indirecta. E esta contestao alicera-se na prpria determinao conceptual do poder a que tal potestas corresponde. Schmitt recusa a mera possibilidade da existncia de uma potncia cujo poder consista na limitao do poder efectivamente exercido. E interessa reparar na argumentao que sustenta uma tal recusa. Como vimos, segundo Schmitt, se qualquer norma no pode deixar de remeter para a sua efectivao, para a sua aplicao ao plano concreto da efectividade, tal quer dizer que a norma no pode deixar de remeter para a deciso, para o poder que a aplica. E o poder pelo qual a lei aplicada no pode deixar de ser um poder que, na efectivao dessa mesma lei, absoluto. Limit-lo atravs de uma potestas indirecta, submet-lo crtica e ao controlo de um outro poder, pura e simplesmente destitulo, submetendo-o a um segundo poder que, na medida em que o submete, j no se exerce indirecta, mas directamente. Por outras palavras, para Schmitt, a potestas indirecta constitui um conceito impossvel porque qualquer poder no pode deixar de, enquanto poder, exercer-se directamente, ou seja, porque o poder de legislar e o poder de guardar a lei no podem ser seno duas conguraes possveis de um mesmo e nico poder. Participando da exigncia da racionalidade do direito, Schmitt compreende as preocupaes que originam a reivindicao catlica de uma potestas indirecta, ou a necessidade normativista de encontrar na lei uma barreira erguida diante do arbtrio sempre possvel de uma vontade detentora de poder. Tais preocupaes fundamse, como reconhece explicitamente em Der Wert des Staates, no medo de um abuso da potncia factcia do Estado, numa desconana contra a maldade ou a fraqueza factcias dos homens e na tentativa de as defrontar9 . Contudo, diante de um tal medo, Schmitt arma a impossibilidade do seu desaparecimento. Dir-se-ia que a preocupao com a sempre possvel arbitrariedade do po9
Der Wert des Staates, p. 82.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Do Decisionismo Teologia Poltica
17
der que institui a lei no pode deixar de fazer parte integrante da existncia dessa mesma lei. Se toda a lei se cumpre enquanto lei, se toda a norma se aplica e efectiva enquanto norma, a partir de um poder que a aplica e efectiva, a possibilidade de o poder a ultrapassar, suspendendo-a ou anulando-a, algo constitutivo dessa mesma lei na sua efectivao. ento a possibilidade da excepo que constitui a possibilidade da existncia da lei, ou seja, que constitui essa mesma lei enquanto lei efectiva e existente. Querer submeter o poder legislador a um segundo poder que tivesse a incumbncia de guardar a lei seria, no evitar a possibilidade do arbtrio, mas designar este segundo poder como o nico poder propriamente dito, como o poder soberano ao qual se tem de submeter todo e qualquer outro poder. Como escreve Schmitt, nesse mesmo texto, antecipando em quase vinte anos a sua polmica com Kelsen a propsito do guardio da constituio: Nenhuma lei se pode cumprir a si mesma, so sempre apenas homens que podem ser erigidos a guardies das leis, e quem no cona ele mesmo nos guardies, a esse nada ajuda que se lhes volte a dar novos guardies10 . O poder de determinar a lei no seu contedo, por um lado, e o poder de a guardar, por outro, surgem assim unidos, segundo Schmitt, na unidade de um nico poder. A um tal poder nico poderse-ia chamar um poder representativo. Para a compreenso dessa designao, torna-se necessrio ter presente a elaborao schmittiana do conceito de representao (Reprsentation). Em 1928, ao publicar Verfassungslehre, Schmitt esclarece esse conceito do seguinte modo: A representao no nenhum processo normativo, no nenhum procedimento, mas algo existencial. Representar quer dizer tornar visvel e presenticar um ser invisvel atravs de um ser publicamente presente. A dialctica do conceito est em que o que invisvel pressuposto como ausente e, no entanto,
10
Idem, pp.82-83.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
18
Alexandre Franco de S
tornado presente11 . Dir-se-ia ento que, considerada abstractamente em si mesma, enquanto pura ideia, a ordem jurdica, a lei que constitui o direito, , usando os termos utilizados por Schmitt, essencialmente invisvel e ausente. Ela s se pode tornar visvel e presente no a partir de si mesma, mas a partir da sua representao por um poder que assegure essa visibilidade e presena. Deste modo, se a lei requer sempre necessariamente a sua visibilidade e presena, ou seja, a sua efectividade, a sua aplicao a uma situao efectivamente real, tal quer dizer que ela exige, a partir de si mesma, o seu aparecimento atravs da mediao de um poder que a represente. Assim, segundo a sua prpria essncia, um tal poder representativo no pode reconhecer diante de si nenhum outro poder que o limite. E no pode porque este poder surge no como um poder vinculado a uma lei exterior que o limita, no como um poder submetido a um segundo poder que vigia o cumprimento de uma norma que lhe imposta a partir de fora, mas como idntico prpria lei na sua existncia visvel e manifestao fenomnica, isto , como a existncia da prpria lei na sua visibilidade e presena. justamente no seio da Igreja catlica romana, atravs da sua determinao do Papa como o representante de Cristo sobre a Terra, assim como das consequncias desta representao a ilimitao do poder papal, assente na possibilidade de o Papa falar ex cathedra, ou seja, no dogma da sua infalibilidade , que surge para o Estado o paradigma daquilo a que se poderia chamar o poder representativo. Se, na perspectiva catlica, o Papa surge como o representante da verdade, tal quer dizer que ele , enquanto representante, a prpria verdade que se torna visvel e presente, e que, nessa medida, o seu poder , por exigncia da sua prpria essncia, incontestvel e ilimitvel. Deste modo, a Igreja realiza de um modo paradigmtico ou exemplar um poder que, no seio dos
Carl SCHMITT, Verfassungslehre, Berlim, Duncker & Humblot, 1993, pp. 209-210.
11
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Do Decisionismo Teologia Poltica
19
vrios Estados, apenas imperfeitamente se concretiza. Como escreve Schmitt, j em 1914: A Igreja, que, segundo a sua prpria doutrina, a nica Igreja e no pode reconhecer nenhuma outra junto dela, que representa ela mesma a efectivao de um ideal, encontra-se numa vantagem innita em relao ao Estado singular, que reconhece como igualmente legtimos centenas de outros Estados junto dele e no tem a pretenso de uma superioridade sobre a relatividade do temporal. O Estado concreto, na questo do Estado ideal, que s pode ser sempre um, deixou cair constantemente a comparao com a empiria, enquanto a Igreja, na qual, segundo a sua prpria posio, se renem ideal e efecticidade, emerge ela mesma como o Estado ideal, a civitas Dei, de tal modo que, ao mesmo tempo, pode pr em campo a seu favor, e contra o Estado concreto, qualquer argumento de fundamentao losca de um Estado ideal. Se h apenas uma Igreja, ento a Igreja necessariamente completa; se h centenas de Estados, ento o Estado singular concreto necessariamente incompleto12 . Diante do Estado concreto, dir-se-ia ento que, segundo Schmitt, a Igreja catlica surge, enquanto Estado ideal, como a representante da prpria ideia de representao. Torna-se ento possvel dizer que Schmitt recusa a doutrina catlica da potestas indirecta em nome de um catolicismo mais essencial, no qual a Igreja cumpre a funo de Estado ideal e paradigmtico. A partir de tal funo, a Igreja no surge diante do Estado, como pretendia a doutrina tomista da potestas indirecta, como um poder que limita o poder do Estado, mas justamente como um modelo capaz de guiar o Estado na assuno de um poder soberano e ilimitado ou, o que aqui o mesmo, de um poder representativo. Da que, em 1923, em Rmischer Katholizismus und politische Form, Schmitt possa escrever que a Igreja
12
Der Wert des Staates, p. 45.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
20
Alexandre Franco de S
quer viver com o Estado em comunidade particular, estar diante dele como parceira em duas representaes13 . A confrontao schmittiana quer com o normativismo, na sua excluso da deciso como elemento jurdico, quer com o catolicismo, na sua proposta de uma potestas indirecta capaz de limitar o poder do Estado, culmina ento na defesa da existncia de um poder que represente a lei, de um poder que seja a prpria lei na sua visibilidade, isto , na defesa de um poder soberano essencialmente ilimitado. E a denio da soberania como a possibilidade de abertura de um estado de excepo corresponde, em rigor, a esta defesa: se um poder limitado no poderia deixar de ser um poder que encontrava na lei soberana o fundamento dos seus limites, a determinao da soberania como a possibilidade de decidir um estado de excepo corresponde inevitavelmente defesa de que o poder soberano deve ser essencialmente destitudo de quaisquer limites. No entanto, tendo em conta que Schmitt partilha claramente com o normativismo a necessidade de distinguir o direito da pura e simples armao de uma vontade arbitrria, desvinculada e tirnica, torna-se manifesto que a defesa schmittiana da ilimitao do poder poltico no pode ser considerada como a defesa de um poder caracterizado pela sua mera arbitrariedade. certo que Schmitt defende abertamente, em contraposio ao normativismo, que o poder do Estado no deve encontrar diante de si qualquer poder que o possa limitar. Mas tambm certo que uma tal defesa no surge, no pensamento schmittiano, como a defesa de um poder arbitrrio, absolutamente desvinculado e, nessa medida, irracional, mas como a defesa de um poder ligado a uma ordem e a uma razo, de um poder cuja existncia se manifesta como imprescindvel e, consequentemente, como racionalmente justicvel. Noutros termos, se Schmitt defende, j desde 1914, que o direito no deriva da pura armao de um poder, e que ele , nessa medida, essenCarl SCHMITT, Catolicismo romano e forma poltica, trad. Alexandre Franco de S, Lisboa, Hugin, 1998, p. 38.
13
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Do Decisionismo Teologia Poltica
21
cialmente racional, ou seja, se em nome da racionalidade deste direito que Schmitt recusa a limitao do poder do Estado, isso quer dizer que esta recusa surge em Schmitt como uma concluso retirada a partir de uma ordem de razes, como uma concluso que obedece a uma razo de ser e que , portanto, passvel de uma justicao argumentativa e racional. O decisionismo schmittiano, a tese de que a soberania reside no na lei, mas na deciso que efectiva essa mesma lei, ou seja, no sujeito cujo poder tanto decide a lei, como pode decidir um estado de excepo que suspenda a sua aplicao, encontra assim o seu fundamento no num irracionalismo, mas naquilo a que se poderia chamar uma racionalidade alternativa racionalidade normativista. ento necessrio caracterizar esta racionalidade alternativa que, no pensamento schmittiano, faz emergir o decisionismo. Em Politische Theologie, Schmitt caracteriza o poder soberano no como uma vontade que no encontra qualquer critrio orientador da sua deciso, mas como o representante de uma ordem superior e sobreposta ordem jurdica propriamente dita. esta ordem superior que autoriza o poder soberano a decidir uma excepo ordem jurdica. Como escreve Schmitt: porque o estado de excepo sempre algo diferente de uma anarquia ou um caos que permanece, no sentido jurdico, ainda uma ordem, embora no uma ordem jurdica. [. . . ] A deciso liberta-se de qualquer vnculo normativo e torna-se, em sentido autntico, absoluta. No caso excepcional, o Estado suspende o direito, como se diz, em virtude de um direito de autoconservao14 . A autoconservao do Estado surge assim como um direito situado acima do direito propriamente dito, como uma ordem superior prpria ordem jurdica, como uma razo suprema que justica racionalmente que a ordem jurdica possa ser suspensa por um poder soberano, por um poder cuja soberania consista justamente na possibilidade dessa mesma suspenso. A existncia do Estado aparece ento, para Schmitt, ao contrrio do que
14
Politische Theologie, pp. 18-19.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
22
Alexandre Franco de S
propunha o normativismo de Kelsen, como uma realidade diferente da vigncia de uma ordem jurdica. E esta diferena alicera-se imediatamente na diferena de valor entre uma e outra, na superioridade do valor da existncia do Estado diante do valor da ordem jurdica. Assim, segundo Schmitt, a ordem jurdica de um determinado Estado deve vigorar numa situao normal. Contudo, em caso de necessidade e urgncia, em caso de ruptura da normalidade, o Estado surge como uma realidade cuja existncia vale mais que a existncia da prpria lei, devendo permanecer uma realidade existente, mesmo que para isso seja inevitvel abrir uma excepo ordem jurdica normalmente vigente. A racionalidade do decisionismo schmittiano assenta assim na imediata diferena e superioridade do Estado face ao direito. Ela baseia-se no argumento segundo o qual, em caso de perturbao da normalidade, melhor que o Estado permanea, permanecendo tambm uma ordem atravs dele, mesmo com o sacrifcio da ordem jurdica propriamente dita. Por outras palavras, esta racionalidade baseia-se no argumento de que, sendo a ordem em geral irredutvel ordem jurdica, sendo a existncia do Estado a garantia da permanncia de uma ordem, mesmo que se trate de uma ordem situada aqum da ordem jurdica, deve haver um poder que, num caso de perturbao da normalidade, possa decidir se este caso est presente e se necessrio suspender a ordem jurdica para debelar a perturbao. A racionalidade da defesa schmittiana da ilimitao do poder do Estado, assim como da sua denio da soberania como a possibilidade de deciso de uma excepo ordem jurdica, repousa assim neste direito do Estado sua autoconservao. Um tal direito , como se disse, um direito mais fundamental que o direito propriamente dito, uma ordem suprema que relativiza a prpria ordem jurdica. Deste modo, se o Estado soberano tem o direito de, em caso de necessidade e urgncia, suspender a ordem jurdica que nele se sustenta, se a referncia a este direito superior evoca uma ordem suprema distinta da ordem normativa, e se esta ordem
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Do Decisionismo Teologia Poltica
23
suprema remete necessariamente para uma suprema razo e, com ela, para a possibilidade de uma justicao racional da relativizao da ordem jurdica, torna-se possvel perguntar pela natureza desta mesma justicao. Em nome de que razo tem o Estado o direito de autoconservar-se custa, se necessrio, de uma excepo ordem jurdica? Como se pode justicar racionalmente que a autoconservao do Estado possa pr em causa o prprio direito, suspendendo a ordem jurdica que por este mesmo Estado sustentada? Eis a questo que, no mbito da proposta decisionista da determinao da soberania como a possibilidade de abertura de um estado de excepo, no poderia deixar de ser formulada. Em Politische Theologie, texto onde teria inteiro cabimento, Schmitt no formula, no entanto, uma tal questo. Contudo, a ausncia dessa formulao explictica, longe de indiciar que a questo enquanto tal no est presente na elaborao schmittiana do pensamento decisionista, signica, pelo contrrio, que ela est presente ao ponto de a sua resposta ser tida como inteiramente bvia. No fornecimento dessa resposta, central para o pensamento decisionista, Schmitt fala no directamente, mas atravs de um seu interlocutor. Um tal interlocutor Thomas Hobbes, o qual assinalado por Schmitt como o clssico representante15 do tipo de pensamento jurdico decisionista. Se Hobbes surge para Schmitt como o representante do modo decisionista de pensar, tambm no pensamento hobbesiano que ser possvel encontrar a resposta questo absolutamente inevitvel para o decisionismo da justicao racional do poder ilimitado do Estado soberano. atravs da frase latina do Captulo XXVI do Leviathan auctoritas non veritas facit legem que Schmitt caracteriza a essncia do pensamento decisionista. Com a sua oposio entre verdade e autoridade, Hobbes recusa qualquer critrio exterior que limite a pura deciso do soberano que estabelece a lei. Para Hobbes, a ordem jurdica determinada no a partir de uma verdade subja15
Idem, p. 39.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
24
Alexandre Franco de S
cente a essa mesma ordem, no a partir da verdade de uma ordem inscrita na natureza, prvia deciso soberana e sua orientadora na instaurao do estado civil, mas a partir da pura autoridade daquele que a decide. Assim, na perspectiva de Hobbes, a prpria deciso soberana que estabelece o critrio que determina o seu contedo. Antes de uma tal deciso, num estado natural situado aqum do estado civil instaurado pelo soberano, conceitos como justo e injusto so pura e simplesmente inexistentes. Contudo, se, para o decisionismo de Hobbes, no h uma verdade, uma justia natural, que limite a autoridade daquele que decide a lei, se apenas esta pura deciso que estabelece a distino entre justia e a injustia, h pelo menos uma razo, uma justicao racional para a admisso da autoridade do soberano como uma autoridade ilimitada. E esta justicao racional da ilimitao do poder do Estado soberano apresentada por Hobbes de um modo claro. Ela consiste na garantia de que os indivduos membros de um determinado Estado escapem ao pior dos males possveis: insegurana e previsibilidade de uma morte violenta na anarquia de uma guerra de todos contra todos. Para Hobbes, ento na preservao da vida dos indivduos integrados no seu seio que o Estado encontra a justicao racional do seu poder ilimitado. E se o pensamento hobbesiano surge, em Politische Theologie, como o clssico representante do decisionismo, tal quer dizer que, embora Schmitt no o reconhea explicitamente, o poder do soberano s se justica racionalmente enquanto poder ilimitado, enquanto poder capaz de decidir um estado de excepo lei, na medida em que, diante de um Estado soberano, o indivduo se coloca como o m desse mesmo Estado e do exerccio do seu poder. A assuno de Hobbes como o clssico representante do decisionismo no pode deixar de corresponder, nos dois primeiros captulos de Politische Theologie, apropriao da argumentao hobbesiana na justicao racional da defesa do poder ilimitado de um Estado soberano. Para Hobbes, sem a presena de um tal po-
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Do Decisionismo Teologia Poltica
25
der, a vida dos indivduos estaria num risco permanente. E na segurana destes indivduos que, naquilo a que se poderia chamar a primeira parte de Politische Theologie, o aparecimento de um poder soberano sem limites encontra a nica razo que o justica. Se a determinao do poder soberano como um poder essencialmente ilimitado, como um poder que pode decidir uma excepo ordem jurdica, se justica em nome de uma ordem suprema, de uma suprema razo, esta mesma razo no pode abdicar de argumentos que se revelem como racionalmente convincentes. E no mbitos destes argumentos que a justicao hobbesiana parece aparecer a Schmitt, partida, como a nica justicao possvel. Schmitt nunca se apropria explicitamente da argumentao hobbesiana. Contudo, apesar de nunca assumida com clareza, uma tal argumentao que est sempre implicitamente presente ao longo daquilo a que se poderia chamar uma elaborao inicial do pensamento decisionista. Nesta elaborao inicial, a argumentao hobbesiana no pode deixar de aparecer como o pressuposto escondido da posio decisionista. E no pode porque, sem a sua admisso, a exposio de Schmitt nos dois primeiros captulos de Politische Theologie perde a sua inteligibilidade. Tal como se pode ler explicitamente em Politische Theologie, na resposta pergunta implcita pela racionalidade da defesa de um poder ilimitado por parte de um Estado soberano, isto , na resposta questo implcita de saber por que razo se deve admitir que a soberania resida na possibilidade da deciso de um estado de excepo, Schmitt evoca uma ordem superior ordem jurdica, uma ordem que consiste no supremo direito de um Estado sua autoconservao. E uma tal evocao que, partida, se torna ininteligvel sem a considerao implcita da argumentao hobbesiana. No seu momento inicial, o decisionismo schmittiano no pode deixar de encontrar a razo de ser desse direito supremo do Estado a partir da argumentao hobbesiana na defesa de um poder soberano e absoluto, ou seja, a partir da colocao dos indivduos, na segurana que a sua vida
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
26
Alexandre Franco de S
exige, como os ns que exclusivamente justicam o exerccio deste mesmo poder.
Do Decisionismo Teologia Poltica
A argumentao de Hobbes surge assim como uma argumentao apropriada implicitamente por Schmitt na sua justicao racional da existncia de um poder soberano ilimitado, determinado pela sua possibilidade de decidir a abertura de um estado de excepo. Contudo, esta argumentao nunca nem pode ser explicitamente admitida pelo decisionismo schmittiano. E esta inadmissibilidade da argumentao hobbesiana tem a sua origem naquilo a que se poderia chamar um paradoxo instalado no seu ncleo mais fundamental. A argumentao de Hobbes, na sua justicao do poder ilimitado por parte do Estado, , como j cou demonstrado, inteiramente clara. Para o pensador do Leviathan, s a existncia de um poder soberano ilimitado fundador do estado civil, a existncia de um poder que no encontre fora de si nenhum poder concorrente, nem nenhum critrio exterior de justia que potencialmente o legitime, capaz de libertar os indivduos que se lhe submetem do perigo de uma morte violenta. Deste modo, o poder ilimitado do soberano justica-se em funo da segurana da vida destes mesmos indivduos. para a defesa da segurana individual que se torna racional que um tal poder exista. O poder soberano deve ento existir no porque a sua existncia seja em si mesma um bem, mas porque ela o garante da no ocorrncia do pior de todos os males. O Estado, enquanto detentor de um poder soberano ilimitado, no surge assim como um m em si mesmo. Pelo contrrio, ele um mero meio que se justica em funo do m que os inwww.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Do Decisionismo Teologia Poltica
27
divduos, na sua vida e nos seus interesses, constituem. Contudo, se o Estado soberano, no seu poder ilimitado, existe em funo dos indivduos, e no os indivduos em funo do Estado, se ele surge como a condio possibilitante de uma vida pacca em comum por parte destes indivduos, ou seja, como um sustentculo da sociedade, tal quer dizer que o Estado, apesar do seu poder ilimitado, aparece, na argumentao de Hobbes, como subordinado a essa mesma sociedade. Dir-se-ia ento que, por um lado, o Estado surge para Hobbes como o suporte de um poder absoluto e ilimitado, como um poder que no reconhece fora de si nenhum outro poder que o limite. E que, por outro lado, paradoxalmente, este mesmo Estado, no poder que o caracteriza, s surge em funo dos indivduos e da sociedade por eles constituda, encontrando-se a sua origem na representao de um consenso entre estes mesmos indivduos. O paradoxo na argumentao hobbesiana torna-se ento imediatamente visvel. Por um lado, Hobbes atribui ao Estado soberano um poder absoluto e ilimitado. Por outro, caracteriza-o como o resultado de um acordo entre os indivduos que voluntariamente estabelecem entre si um pacto. Hegel quem, sobretudo nas Grundlinien der Philosophie des Rechts, de 1820, chama a ateno para este paradoxo implcito na herana da argumentao hobbesiana. Para Hegel, reduzir o Estado a uma garantia da vida e segurana individuais, reduzi-lo a um contrato estabelecido entre indivduos em funo desta mesma garantia, seria perd-lo na sua verdade, isto , seria no compreender a sua mais ntima essncia. Se o Estado existisse apenas em funo dos indivduos, dos seus interesses e da sua segurana, se o Estado fosse confundido com uma mera sociedade formada pelo consenso desses mesmos indivduos, ento ele seria uma construo deles derivada, estabelecida contratualmente de um modo meramente ocasional. Como escreve Hegel: Se o Estado se confundir com a sociedade civil burguesa e a sua determinao for posta na segurana e proteco da propriedade e da liberdade pessoal,
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
28
Alexandre Franco de S
ento o interesse dos singulares enquanto tais o m ltimo para o qual eles esto unidos, e segue-se daqui que algo ocasional ser membro do Estado16 . E este carcter ocasional do Estado que Hegel no pode deixar de recusar. Os homens nascem, vivem e morrem j no seio do Estado. E a existncia deste mesmo Estado, assim como do poder soberano ilimitado que nesse mesmo Estado se concretiza, longe de ser uma ocorrncia ocasional consentida pelo consenso espordico dos individduos por ele abrangidos, surge como prvia e subjacente a todo o consenso possvel. Deste modo, segundo Hegel, o Estado no pode nem derivar o seu poder soberano de um consenso ou de um contrato estabelecido entre indivduos, nem justicar a natureza ilimitada do seu poder atravs do argumento utilitrio da defesa dos interesses particulares e da vida desses mesmos indivduos. Embora se aproprie implicitamente da argumentao hobbesiana naquilo a que se poderia chamar uma primeira elaborao do pensamento decisionista, Schmitt no pode deixar de participar das crticas de Hegel a uma tal argumentao. Do mesmo modo que, para Hegel, o Estado constitua uma realidade dialecticamente irredutvel sociedade civil burguesa, assim como multiplicidade dos indivduos e dos interesses que a compem, no podendo ser confundido com uma mera funo colocada ao servio dessa mesma sociedade, o pensamento schmittiano recusa a determinao do Estado como um meio ao servio de ns que residem na esfera dos interesses individuais, assim como na sua necessidade de proteco e segurana. j desde 1914, desde a publicao de Der Wert des Staates, que uma tal recusa se manifesta claramente. Nessa obra, onde Schmitt se contrape a qualquer sugesto de um poder que limite o poder soberano do Estado, contestando quer a defesa catlica de uma potestas indirecta, quer a proposta
G. F. W. HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts (ed. Hoffmeister), 258, in Hauptwerke, vol. 5, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999, p. 208.
16
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Do Decisionismo Teologia Poltica
29
de um poder scalizador que seja o guardio da vigncia da ordem jurdica, Schmitt arma abertamente que o Estado no pode ser justicado no seu poder ilimitado em funo da sociedade formada pelos indivduos que se lhe encontram submetidos. E no pode desde logo porque o Estado, sendo o poder ilimitado que possibilita a prpria sociedade, formalmente anterior a essa mesma sociedade. Como escreve Schmitt: O Estado no uma construo que os homens zeram; pelo contrrio: ele faz de cada homem uma construo17 . Assim, se o Estado que constri o indivduo, e no o indivduo o Estado, tal quer dizer que este mesmo Estado, longe de poder ser pensado como um meio ao servio dos indivduos, determinvel justamente como o seu contrrio, ou seja, como a instncia que pode mobilizar os homens individuais, reduzindo-os a meios do cumprimento de uma tarefa essencial que, demasiado grande para a sua individualidade, s no prprio Estado pode encontrar a sua sede. Como conclui Schmitt: Para o Estado, o indivduo enquanto tal o portador ocasional da nica tarefa essencial, da funo determinada que ele tem de cumprir18 . Assim, se j desde 1914 que Schmitt se coloca numa posio para a qual resulta inteiramente inaceitvel a argumentao hobbesiana, na sua justicao racional de um poder ilimitado do Estado, e se a adopo desta mesma argumentao que no pode deixar de estar pressuposta na elaborao inicial do pensamento decisionista, particularmente no momento em que, em Politische Theologie, Schmitt designa Hobbes como o seu clssico representante, tornar-se-ia necessrio introduzir, na prpria estrutura da obra de 1922, uma argumentao alternativa argumentao do prprio Hobbes. Assim, j Politische Theologie que, depois de tratar Hobbes como o clssico representante do decisionismo, no poderia deixar de tentar esboar uma nova fundamentao para a justicao racional do poder ilimitado do Estado soberano. E
17 18
Der Wert des Staates, p. 93. Idem, p. 86.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
30
Alexandre Franco de S
a essa nova justicao que se dirige o conceito schmittiano, introduzido nos dois ltimos captulos de Politische Theologie, de uma teologia poltica. O decisionismo schmittiano, elaborado ao longo dos dois primeiros captulos de Politische Theologie, tinha sido introduzido como uma tese fundamental sobre a realidade da ordem jurdica. Segundo uma tal tese, contida na denio da soberania como a possibilidade de decidir um estado de excepo, o direito no pode ser pensado seno a partir de um poder superior que o decide e que, como tal, pode tambm decidir suspend-lo. Por outras palavras, a lei no pode ser pensada seno a partir da sua remisso deciso do poder poltico que a determina: o jurdico no pode ser pensado seno a partir do poltico. A tese decisionista tem assim o carcter de uma defesa deste mesmo poltico. Diante da tentativa normativista de pensar o jurdico a partir de si mesmo, o decisionismo traduz-se na negao radical da autonomia do jurdico e no estabelecimento de uma sua remisso essencial ao poltico. E para a justicao racional desta remisso essencial, para a fundamentao de que o direito remete necessariamente para um poder poltico ilimitado que o instaura, que Schmitt, depois de designar Hobbes como o decisionista paradigmtico, acaba implicitamente por reconhecer no poder fazer uso da argumentao hobbesiana. Tornava-se ento necessrio a Schmitt pensar a natureza do poltico para o qual o jurdico, na sua radical carncia de autonomia, necessariamente remete. E pens-lo na tentativa de fundamentar racionalmente a existncia desse mesmo poltico. ento desta tentativa de pensar o poltico enquanto tal, encontrando uma justicao racional para a sua defesa, apresentada diante da tentativa normativista de autonomizao do jurdico, que surge a tese apresentada no terceiro captulo de Politische Theologie: todos os conceitos polticos so conceitos teolgicos secularizados. A tese da origem teolgica dos conceitos polticos fundamentais diz ento, partida, que, do mesmo modo que o jurdico, o
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Do Decisionismo Teologia Poltica
31
poltico tambm no pensvel a partir de si mesmo. Se o jurdico no autnomo, remetendo sempre para o poltico como a sua justicao ltima, se a ordem jurdica no pode deixar de remeter necessariamente para a deciso de um poder poltico que a justica, tambm o poltico carece de autonomia, remetendo sempre para o teolgico enquanto fonte do seu poder. A segunda tese formulada em Politische Theologie pode ento comear a articular-se com a primeira. Na primeira tese, Schmitt determinara a ausncia de autonomia do jurdico, assim como a necessidade da existncia de um poder poltico. Nesta tese, apresenta-se a necessidade da existncia de um poder caracterizado, na sua essncia, pela sua ilimitao do ponto de vista jurdico, ou seja, pela sua ausncia de reconhecimento de qualquer poder que o procure limitar em nome de uma ordem instaurada pela lei. Na segunda tese, insatisfeito com uma primeira justicao racional do poder poltico ilimitado, implicitamente apresentada a partir de Hobbes enquanto representante clssico do modo decisionista de pensar, Schmitt determina a ausncia de autonomia do prprio poltico e assinala o plano teolgico como a fonte dos seus conceitos fundamentais. E se no teolgico que o poltico encontra a sua necessria origem, do mesmo modo que o jurdico no pode deixar de ter neste mesmo poltico a sua raiz, no plano teolgico que, na perspectiva schmittiana, o poltico, ou seja, a realidade de um poder soberano ilimitado, prvio e instaurador da ordem jurdica, encontrar a possibilidade da sua justicao racional. O problema da articulao entre as duas partes fundamentais de Politische Theologie, o problema da articulao entre o decisionismo e a teologia poltica, ganha aqui uma congurao mais precisa. Ele consiste em mostrar como a partir do teolgico que o poltico, a existncia de um poder soberano ilimitado, adquire a possibilidade da sua justicao racional. A tese schmittiana da origem teolgica dos conceitos polticos fundamentais sugere uma relao essencial entre o poltico e o teolgico. Segundo uma tal relao, a dimenso teolgica funda uma
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
32
Alexandre Franco de S
viso do mundo, uma metafsica, que tende sempre a traduzirse politicamente. Como escreve Schmitt: A imagem metafsica que uma determinada era faz do mundo tem a mesma estrutura que aquilo que a ilumina enquanto forma sem mais da sua organizao poltica19 . Deste modo, ntima relao que se estabelece entre o teolgico e o poltico, relao essa pela qual o teolgico tende a aparecer politicamente traduzido, poder-se-ia chamar uma relao de mediao. De acordo com uma tal relao, dir-se-ia que, por um lado, o poltico no pode ser compreendido apenas em si mesmo, mas sempre como a mediao do teolgico. E que, por outro lado, o teolgico no deve ser captvel em si mesmo, mas sempre na sua relao com a mediao poltica. Por outras palavras, dir-se-ia que a teologia, a imagem metafsica do mundo, a ideia no pode deixar de tender para se concretizar numa determinada congurao histria e institucional, traduzindo-se numa determinada estrutura poltica. Contudo, se o teolgico tende a encontrar no poltico uma mediao, tal no quer dizer que o plano teolgico tenha necessariamente de mediar-se politicamente. Segundo a tese schmittiana fundadora da teologia poltica, o poltico no se constitui como uma realidade autnoma. Ele , na sua essncia, a mediao do teolgico. E isso signica que uma tentativa de autonomizar o poltico corresponderia inevitavelmente sua aniquilao. alis a uma tal aniquilao que corresponde justamente a tentativa normativista de autonomizao do jurdico, tentativa essa que encontra na desvalorizao do poltico, ou seja, na desvinculao entre o poltico e o teolgico, a condio que o possibilita. No entanto, se o poltico no pode ser pensado sem a referncia ao teolgico, se a tentativa de pensar o poltico desvinculado do teolgico corresponde, no fundo, tentativa de o aniquilar, tratando a ordem jurdica derivada do poltico como uma realidade auto-fundada e auto-suciente, o teolgico est numa posio hierarquicamente superior ao poltico
19
Idem, p. 50.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Do Decisionismo Teologia Poltica
33
e pode, nessa medida, ter uma existncia desligada da mediao. Assim, embora a teologia tenda a aparecer mediada politicamente, tal no quer dizer que ela tenha uma necessidade absoluta de surgir determinada sob essa mediao. Pelo contrrio, possvel a ocorrncia na histria humana de uma crise das estruturas mediadoras. Numa tal crise, caracterizada justamente pelo desaparecimento das estruturas que medeiam o acesso ao teolgico ou, noutros termos, pelo desvanecimento da mediao poltica e institucional do teolgico, ao indivduo que cabe encontrar sozinho, por si mesmo, o acesso a um tal plano. neste sentido que se pode ler, j em Der Wert des Staates: H tempos de meio e tempos de imediao. Nestes, a entrega do singular ideia algo bvio para os homens; no preciso o Estado fortemente organizado para proporcionar reconhecimento ao direito; o Estado parece mesmo, de acordo com a expresso de Angelus Silesius, estar diante da luz como uma parede. Nos tempos de mediao, pelo contrrio, o meio torna-se para os homens essencial, e eles no conhecem nenhum outro direito seno aquele que mediado pelo Estado20 . Assim, se possvel a ocorrncia de tempos de imediao, de tempos em que a teologia acessvel directamente, sem uma mediao poltica e institucional, uma defesa racional do poltico no pode deixar de partir de uma meditao sobre as caractersticas e as consequncias da ausncia de mediao poltica. A consequncia mais bvia de uma relao imediata com a ideia, de um acesso directo verdade ou a Deus, abdicando da mediao desta relao atravs de uma estrutura institucional, torna-se sem diculdade claramente visvel. Ela consiste naquilo a que se poderia chamar uma conscincia da posse exclusiva da verdade ou, por outras palavras, no fanatismo. E o resultado de uma conscincia fanatizada assenta na impossibilidade de uma convivncia com o outro e o diferente, na absoluta intransigncia de que resulta, como seu resultado imediato, o dio pessoal, a inimizade
20
Der Wert des Staates, pp. 108-109.
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
34
Alexandre Franco de S
e o conito totais. Uma tal intransigncia pode emergir tanto no plano religioso como no plano poltico. E, em ambos os planos, ela manifesta-se atravs de um combate contra a autoridade, atravs de uma recusa da moderao e da sobriedade que s a mediao consegue assegurar. ento nesta contraposio ao fanatismo que a defesa de um poder soberano ilimitado encontra a possibilidade de uma justicao racional. Se, na sua unilateralidade, o fanatismo pode ser considerado como a prpria negao da racionalidade, e se s a mediao poltica e institucional do teolgico pode assegurar que a conscincia no caia no fanatismo de um acesso directo e unilateral ideia, recusando um tal acesso a tudo quanto diferente ou oposto, ento a mediao poltica, assim como a existncia de um poder poltico ilimitado que a possa sustentar, no pode deixar de surgir como necessariamente racional. A racionalidade da defesa schmittiana de um poder soberano ilimitado ganha assim, a partir da segunda parte de Politische Theologie, uma forma denitiva. Ela consiste ento em evitar as consequncias do fanatismo, consequncias essas que resultam necessariamente da destruio da mediao poltica do teolgico. Ao abrigo desta racionalidade, o pensamento poltico schmittiano pode ganhar a sua forma denitiva como uma defesa do poder ilimitado do Estado soberano, ou seja, como um combate na defesa do poder poltico. E um tal combate pelo poltico que podemos circunscrever, a partir do esboo da teologia poltica schmittiana, sob uma tripla forma. Em primeiro lugar, ele surge como uma defesa da Igreja, e da racionalidade peculiar da autoridade inapelvel do Papa, contra a reivindicao de um acesso imediato e no institucionalizado ideia, teologia, verdade, a Deus. A Igreja surge, para Schmitt, como uma complexio oppositorum cuja unidade mantida pela prpria autoridade que a possibilidade de uma deciso inapelvel assegura. No havendo a possibilidade de o Papa falar ex cathedra, todas as posies opostas reivindicariam para si uma verdade unilateral e, consequentemente, a unidade da Igreja desfazer-
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Do Decisionismo Teologia Poltica
35
se-ia na emergncia de grupos fanticos, alienados e violentos. nesse sentido que Schmitt pode escrever, no seu Rmischer Katholizismus und politische Form: A Igreja tem uma racionalidade particular. [. . . ] No combate contra o fanatismo sectrio, ela esteve sempre do lado do bom senso humano, em toda a Idade Mdia ela reprimiu, como Duhem muito bem mostrou, a superstio e a feitiaria. Mesmo Max Weber verica que o racionalismo romano continua a viver nela, que ela soube superar grandiosamente os cultos da embriagus dionisaca, os xtases e a imerso na contemplao. Este racionalismo repousa no institucional e essencialmente jurdico21 . O catolicismo romano de Schmitt ganha ento o seu fundamento no na adeso proposta catlica de uma potestas indirecta, mas na associao da prpria posio catlica sua contestao. A deciso inapelvel do Papa agora o modelo da deciso proveniente do poder ilimitado de um qualquer Estado soberano. E este carcter paradigmtico da deciso papal , em Politische Theologie, absolutamente manifesto: O valor do Estado est em que d uma deciso; o valor da Igreja em que d uma ltima deciso inapelvel22 . Uma segunda forma em que o combate schmittiano pelo poltico emerge consiste no combate contra a tentativa normativista de autonomizar o jurdico. Uma tal tentativa, como vimos, encontra o seu fundamento na recusa da existncia de um poder poltico propriamente dito, associando imediatamente um poder soberano juridicamente ilimitado arbitrariedade de um poder violento e irracional. Ela v no desaparecimento do poltico segundo os seus prprios termos: na subordinao do poltico ao jurdico o desaparecimento da possibilidade da violncia e da guerra, o desaparecimento do nico poder que, podendo colocar-se num plano anterior e superior ao da prpria lei, pode inaugurar casos em que
Carl SCHMITT, Catolicismo romano e forma poltica, trad. Alexandre Franco de S, Lisboa, Hugin, 1998, p. 28. 22 Politische Theologie, p. 60.
21
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
36
Alexandre Franco de S
a normalidade suspensa: o estado de excepo, por um lado; o estado de guerra, por outro. Schmitt reconhece que o seu conceito do poltico colide com o projecto normativista de uma paz perptua. Contudo, se da defesa do poltico resulta inevitavelmente a defesa da possibilidade da guerra, esta defesa baseia-se na distino entre formas de inimizade e na tentativa de impossibilitar a emergncia de uma inimizade total, pessoal e fantica. assim que, em Der Begriff des Politischen, ao denir o poltico como a diferenciao entre amigo e inimigo, Schmitt tem o cuidado de esclarecer que este um hostis e no um inimicus, um inimigo pblico que, para o ser, no precisa de ser nem pessoalmente odiado, nem demonizado e combatido fanaticamente em nome de um ideal ou da salvao da humanidade. Esclarecendo que no preciso odiar o inimigo em sentido poltico23 , Schmitt encara assim o dio normativista contra o poltico, o dio pacista contra a guerra, o dio humanitrio que criminaliza o inimigo, como anal a forma de guerra mais violenta e mais cruel, guerra essa que s a presena do poltico tem a possibilidade de evitar. Como escreve Schmitt: Tais guerras [as guerras humanitrias] so, de um modo necessrio, guerras particularmente intensivas e desumanas, porque, indo para alm do poltico, tm de, ao mesmo tempo, rebaixar o inimigo para categorias morais e outras, e de torn-lo num monstro desumano, que no apenas tem de ser repelido mas denitivamente aniquilado, ou seja, que j no apenas um inimigo a reenviar para as suas fronteiras24 . Finalmente, do combate contra o normativismo, na sua tentativa de eliminao do poltico atravs da absolutizao do jurdico, e da denncia de uma guerra total como a consequncia directa do seu projecto de estabelecimento de uma paz perptua, resulta, como terceira forma do combate pelo poltico, o combate aberto
Carl SCHMITT, Der Begriff des Politischen, Berlim, Duncker & Humblot, 1996, p. 29. 24 Idem, p. 37.
23
www.lusosoa.net
i i i
i i
i i
Do Decisionismo Teologia Poltica
37
contra esta mesma guerra total. no anarquismo de Proudhon, e sobretudo no dio de cita do anarquismo de Bakunine, que se torna possvel observar a emergncia de uma recusa total da autoridade, quer no plano poltico, quer no plano religioso. E particularmente em Bakunine que uma tal recusa ganha a forma explcita da rejeio de qualquer forma de mediao. Para o anarquista russo, era a vida, na sua plena imanncia e imediatidade, que se contrapunha a qualquer forma de a mediar. A soberania poltica, a autoridade sacerdotal, a representao que apela a uma transcendncia, a deciso pessoal: tudo isso so, na perspectiva anarquista de Bakunine, modos possveis de intelectualizar e, nessa medida, de desvitalizar o processo imanente cuja imediatez constitui a prpria vida. Como escreve Schmitt: Bakunine d ao combate contra Deus e o Estado o carcter de um combate contra o intelectualismo e contra a forma tradicional da educao em geral25 . E contra este dio anarquista dirigido desvitalizao, contra a guerra total que o anarquismo fantico move ao poltico enquanto forma paradigmtica da mediao, que a defesa schmittiana da teologia poltica, a defesa schmittiana de uma sempre necessria mediao poltica, e o combate pelo poltico que se lhe segue, encontra em denitivo o mais ntimo fundamento que racionalmente o justica.
Cf. Carl SCHMITT, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus, Berlim, Duncker & Humblot, 1996, p. 79.
25
www.lusosoa.net
i i i
Você também pode gostar
- Hespanha, O Caleidoscopio Do DireitoDocumento29 páginasHespanha, O Caleidoscopio Do DireitoJoana VitorinoAinda não há avaliações
- Avesso Da LiberdadeDocumento1 páginaAvesso Da LiberdaderafaelAinda não há avaliações
- O Estado Do Bem-Estar Social Na Idade Da RazãoDocumento8 páginasO Estado Do Bem-Estar Social Na Idade Da RazãoKleberAinda não há avaliações
- Os Direitos Fundamentais e A Incerteza Do DireitoDocumento79 páginasOs Direitos Fundamentais e A Incerteza Do DireitoRebeca Guerreiro MachadoAinda não há avaliações
- Transplantes Normativos e algumas refrações da sua utilização em decisões judiciais: Análise de posições do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e dos Tribunais Superiores brasileirosNo EverandTransplantes Normativos e algumas refrações da sua utilização em decisões judiciais: Análise de posições do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e dos Tribunais Superiores brasileirosAinda não há avaliações
- Orçamento EmpresarialDocumento13 páginasOrçamento EmpresarialEdson RibeiroAinda não há avaliações
- 1ºteste 2020 10B V3Documento7 páginas1ºteste 2020 10B V3mariaantoniamiraAinda não há avaliações
- 6 - Com e Contra - Carl Schmitt - Chantal MouffeDocumento19 páginas6 - Com e Contra - Carl Schmitt - Chantal MouffeFelipe AlvesAinda não há avaliações
- Igual consideração e respeito, independência ética e liberdade de expressão em Dworkin: é possível reconciliar igualdade, liberdade e o discurso do ódio em um ordenamento coerente de princípios?No EverandIgual consideração e respeito, independência ética e liberdade de expressão em Dworkin: é possível reconciliar igualdade, liberdade e o discurso do ódio em um ordenamento coerente de princípios?Ainda não há avaliações
- Anti-Direito - Willis SantiagoDocumento17 páginasAnti-Direito - Willis SantiagoRicardo SilvaAinda não há avaliações
- Gandara, Manuel. - Repensando Los Derechos Humanos A Partir de Las Luchas.Documento12 páginasGandara, Manuel. - Repensando Los Derechos Humanos A Partir de Las Luchas.Victor Alberto DuránAinda não há avaliações
- O Conceito de Jaula de Aço WeberDocumento14 páginasO Conceito de Jaula de Aço WeberThalisson MaiaAinda não há avaliações
- Resenha - PORTO MACEDO JR. Do Xadrez À CortesiaDocumento30 páginasResenha - PORTO MACEDO JR. Do Xadrez À CortesiaCesar Felipe Bolzani100% (2)
- José Carlos Buzanello - Artigo - Direito de ResistênciaDocumento20 páginasJosé Carlos Buzanello - Artigo - Direito de ResistênciaLucas Farias100% (2)
- Resenha - Teoría Constitucional Da Democracia ParticipativaDocumento7 páginasResenha - Teoría Constitucional Da Democracia Participativam074h3u5100% (1)
- Tres Modelos Normativos de DemocraciaDocumento1 páginaTres Modelos Normativos de DemocraciafelipevdAinda não há avaliações
- A Indignidade Da Legislaçao Waldron PDFDocumento21 páginasA Indignidade Da Legislaçao Waldron PDFGisele LoeschAinda não há avaliações
- DFD0314 - Antropologia Jurídica - Orlando Villas BoasDocumento62 páginasDFD0314 - Antropologia Jurídica - Orlando Villas BoasmarcelaAinda não há avaliações
- Carl Schmitt - Legalidade e Legitimidade-Del ReyDocumento66 páginasCarl Schmitt - Legalidade e Legitimidade-Del Reyribeirofth100% (1)
- A Bahia para Os Baianos - Eliana Batista - EdufbaDocumento292 páginasA Bahia para Os Baianos - Eliana Batista - Edufbaede_assisAinda não há avaliações
- Teoria Pura Do Direito - Hans KelsenDocumento13 páginasTeoria Pura Do Direito - Hans KelsenSilvia LaisAinda não há avaliações
- Direito e Estetica para Uma Critica Da Alienacao Social No Capitalismo PDFDocumento184 páginasDireito e Estetica para Uma Critica Da Alienacao Social No Capitalismo PDFEduardo CardosoAinda não há avaliações
- Os Direitos Humanos No Contexto Da GlobalizacaoDocumento17 páginasOs Direitos Humanos No Contexto Da GlobalizacaoAssessoriaAinda não há avaliações
- Principais Elementos de Uma Teoria Da Dupla Natureza Do DireitoDocumento22 páginasPrincipais Elementos de Uma Teoria Da Dupla Natureza Do DireitoFrancisco Araujo100% (1)
- Guadalupe FonsecaDocumento11 páginasGuadalupe FonsecaMRCALAinda não há avaliações
- História Do Pensamento Jurídico OcidentalDocumento6 páginasHistória Do Pensamento Jurídico Ocidentalsara_varela_6100% (1)
- Livro IED - Miguel RealeDocumento2 páginasLivro IED - Miguel RealeÂngelo ConradoAinda não há avaliações
- Bruce Ackerman - Adeus MontesquieuDocumento11 páginasBruce Ackerman - Adeus MontesquieuAOSBSAinda não há avaliações
- GALANTER. Por Que Quem Tem Sai Na Frente - Fev2014Documento98 páginasGALANTER. Por Que Quem Tem Sai Na Frente - Fev2014Gabriela PieniakAinda não há avaliações
- Primeiras Paginas Direito Penal 7a Edicao Juarez Cirino Dos SantosDocumento14 páginasPrimeiras Paginas Direito Penal 7a Edicao Juarez Cirino Dos SantosRiciery S. Faria RossiAinda não há avaliações
- Trivializacao Dos Direitos Humanos Tercio Sampaio Ferraz Junior PDFDocumento17 páginasTrivializacao Dos Direitos Humanos Tercio Sampaio Ferraz Junior PDFJudith Bede100% (1)
- CHAUÍ - Períodos Da História Da FilosofiaDocumento15 páginasCHAUÍ - Períodos Da História Da FilosofiagogoiaAinda não há avaliações
- John Austin - Brian Bix TraduçãoDocumento20 páginasJohn Austin - Brian Bix TraduçãoFábio Ferreira MoraisAinda não há avaliações
- Análise Crítica Do Desarmamento Civil Como Política Criminal - Lucas Torres ValloryDocumento110 páginasAnálise Crítica Do Desarmamento Civil Como Política Criminal - Lucas Torres ValloryluvalloryAinda não há avaliações
- O Que É Ativismo JudicialDocumento26 páginasO Que É Ativismo Judicialgabriel alves fleuryAinda não há avaliações
- A Invenção Republicana - Renato LessaDocumento13 páginasA Invenção Republicana - Renato Lessamatheusxavier90Ainda não há avaliações
- STRECK, Lenio Luiz - Hermenêutica, Constituição e Autonomia Do Direito.Documento13 páginasSTRECK, Lenio Luiz - Hermenêutica, Constituição e Autonomia Do Direito.João Carlos Bemerguy CameriniAinda não há avaliações
- O Direito Na Grécia Antiga.Documento8 páginasO Direito Na Grécia Antiga.Henrique LopesAinda não há avaliações
- A Constituição Dirigente InvertidaDocumento23 páginasA Constituição Dirigente InvertidapedroAinda não há avaliações
- Rafael Tomaz, Lênio Streck - O Que É Isto - A Hermenêutica JurídicaDocumento6 páginasRafael Tomaz, Lênio Streck - O Que É Isto - A Hermenêutica JurídicaBernardo de CastroAinda não há avaliações
- Vocabulario Juridico, Com Appendices - Augusto Teixeira de Freitas SeniorDocumento788 páginasVocabulario Juridico, Com Appendices - Augusto Teixeira de Freitas SeniorAdells LinoAinda não há avaliações
- Livro Tércio Sampaio Ferraz Junior - FichamentoDocumento15 páginasLivro Tércio Sampaio Ferraz Junior - FichamentoMoises Santos100% (2)
- Marcos Nobre - Apontamentos Sobre A Pesquisa em Direito No BrasilDocumento19 páginasMarcos Nobre - Apontamentos Sobre A Pesquisa em Direito No BrasilLolPimAinda não há avaliações
- Artigo Bruno Torrano PDFDocumento10 páginasArtigo Bruno Torrano PDFBonaventura Goulart100% (2)
- Acesso À Justiça - Um Olhar Retrospectivo (Artigo) - Eliane B. JunqueiraDocumento15 páginasAcesso À Justiça - Um Olhar Retrospectivo (Artigo) - Eliane B. JunqueiraLucas PoianasAinda não há avaliações
- BOITEUX, Elza. O Princípio Da Solidariedade e Os Direitos Humanos de Natureza AmbientalDocumento25 páginasBOITEUX, Elza. O Princípio Da Solidariedade e Os Direitos Humanos de Natureza AmbientalHeloisaAinda não há avaliações
- 2.4 - SALDANHA, Nelson. Estado, Jurisdição e GarantiasDocumento14 páginas2.4 - SALDANHA, Nelson. Estado, Jurisdição e GarantiasAndreAinda não há avaliações
- 2022 Direitos Da 3a Geração 2Documento12 páginas2022 Direitos Da 3a Geração 2xmariAinda não há avaliações
- STRECK, Lenio - Aplicar A Lei É Uma Atitude PositivistaDocumento17 páginasSTRECK, Lenio - Aplicar A Lei É Uma Atitude PositivistaangeespindolaAinda não há avaliações
- AMH 2005 o Direito Luso Brasileiro No Antigo RegimeDocumento488 páginasAMH 2005 o Direito Luso Brasileiro No Antigo RegimeRenata100% (1)
- (Bittar) Ronald DworkinDocumento8 páginas(Bittar) Ronald DworkinRaique LucasAinda não há avaliações
- Resumo Critica Da Legalidade e Do Direito Brasileiro Alysson Leandro MascaroDocumento2 páginasResumo Critica Da Legalidade e Do Direito Brasileiro Alysson Leandro MascaroPedro CP100% (1)
- Resumo - Legalidade e LegitimidadeDocumento5 páginasResumo - Legalidade e LegitimidadeMarcelle RosaAinda não há avaliações
- Fichamento - Autoritarismo e Golpes Na América LatinaDocumento4 páginasFichamento - Autoritarismo e Golpes Na América LatinaDeborah MarquesAinda não há avaliações
- Luis Alberto Warat - As Vozes Incógnitas Das Verdades JurídicasDocumento5 páginasLuis Alberto Warat - As Vozes Incógnitas Das Verdades JurídicasMinBsbAinda não há avaliações
- Artigo - Michael WalzerDocumento16 páginasArtigo - Michael WalzerJC CostaAinda não há avaliações
- BEAUVOIR, Simone. O SEGUNDO SEXO 25 ANOS DEPOIS: Entrevista Com Simone de Beauvoir - Simone de Beauvoir - Territórios de Filosofia PDFDocumento12 páginasBEAUVOIR, Simone. O SEGUNDO SEXO 25 ANOS DEPOIS: Entrevista Com Simone de Beauvoir - Simone de Beauvoir - Territórios de Filosofia PDFSérgio AndradeAinda não há avaliações
- A súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça: uma (re)construção principiológico-constitucional no Estado Democrático de DireitoNo EverandA súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça: uma (re)construção principiológico-constitucional no Estado Democrático de DireitoAinda não há avaliações
- A Justiça sub judice - reflexões interdisciplinares: Volume 3No EverandA Justiça sub judice - reflexões interdisciplinares: Volume 3Ainda não há avaliações
- Estudos Linguísticos: V L H H L PDocumento33 páginasEstudos Linguísticos: V L H H L PclaudiaAinda não há avaliações
- Aula 7 - Exercícios - Elementos de Máquina - ChavetasDocumento4 páginasAula 7 - Exercícios - Elementos de Máquina - ChavetasEder CoserAinda não há avaliações
- 1 Exercicios CompletoDocumento4 páginas1 Exercicios CompletoManolo GipielaAinda não há avaliações
- Avaliação Da Resistência À Compressão Axial em Prismas de Blocos Cerâmicos para Alvenaria de Vedação em Função Da Espessura Da Argamassa de AssentamentoDocumento10 páginasAvaliação Da Resistência À Compressão Axial em Prismas de Blocos Cerâmicos para Alvenaria de Vedação em Função Da Espessura Da Argamassa de AssentamentoJoao ManoelAinda não há avaliações
- Projeto Elétrico Esteira ContadoraDocumento11 páginasProjeto Elétrico Esteira ContadoraAlexandre PinelliAinda não há avaliações
- Compostagrm X Esterqueira EmissãoDocumento2 páginasCompostagrm X Esterqueira EmissãoGabriel RigoAinda não há avaliações
- Instante Decisivo PDFDocumento18 páginasInstante Decisivo PDFangelmiquelinAinda não há avaliações
- Descomplicando A MatemáticaDocumento75 páginasDescomplicando A Matemáticasancosta74100% (1)
- Material Plantas DaninhasDocumento353 páginasMaterial Plantas DaninhasJúnior Fogaça100% (1)
- Downloads - Telecom - Sistemas - Telecom - Satélite - Introduçao Aos Sistemas Via SatéliteDocumento36 páginasDownloads - Telecom - Sistemas - Telecom - Satélite - Introduçao Aos Sistemas Via Satélitediogo edlerAinda não há avaliações
- Influência Da Revolução IndustrialDocumento16 páginasInfluência Da Revolução IndustrialAlbertoAinda não há avaliações
- As Duas Colunas Do Templo de SalomãoDocumento15 páginasAs Duas Colunas Do Templo de SalomãoMarcelo100% (2)
- Livro Governar É Abrir EstradasDocumento162 páginasLivro Governar É Abrir EstradasAlexandre NichelAinda não há avaliações
- CFFa Manual Biosseguranca PDFDocumento96 páginasCFFa Manual Biosseguranca PDFTatiane VasconcelosAinda não há avaliações
- As Vantagens Do Clube de AventureirosDocumento4 páginasAs Vantagens Do Clube de AventureirosKleber e Tatiane Pires SantosAinda não há avaliações
- Anamnese, Exame Clínico e ComplementaresDocumento6 páginasAnamnese, Exame Clínico e ComplementaresLaís MedeirosAinda não há avaliações
- LTCAT Espum 2017Documento11 páginasLTCAT Espum 2017Andre TestolinAinda não há avaliações
- 315903-Propriedade Intelectual 3Documento21 páginas315903-Propriedade Intelectual 3Dauana PlamerAinda não há avaliações
- Dinâmicas Volta Às Aulas - BônusDocumento8 páginasDinâmicas Volta Às Aulas - BônusDiegoAnaCarlaAinda não há avaliações
- Estudo Cinético Da Invertase Da LeveduraDocumento19 páginasEstudo Cinético Da Invertase Da LeveduraRita JanelaAinda não há avaliações
- Atividades de Risco Elevado CAEDocumento7 páginasAtividades de Risco Elevado CAESerralheiroAinda não há avaliações
- Características Naturais Da Península IbéricaDocumento7 páginasCaracterísticas Naturais Da Península IbéricaLuis NunesAinda não há avaliações
- The Matrix DecipheredDocumento194 páginasThe Matrix DecipheredFutt CuriosidadesAinda não há avaliações
- BT - Princípios de TreinoDocumento21 páginasBT - Princípios de TreinoRodrigo NobregaAinda não há avaliações
- Teste Das Múltiplas Inteligências Heder Mendes Da Cruz PDFDocumento5 páginasTeste Das Múltiplas Inteligências Heder Mendes Da Cruz PDFheder mendesAinda não há avaliações
- Questões - Weber - Durkheim - Karl MarxDocumento8 páginasQuestões - Weber - Durkheim - Karl MarxFábio CostaAinda não há avaliações
- Metais de Transição e LigantesDocumento59 páginasMetais de Transição e LigantesWELLINGTON DA SILVA DA COSTAAinda não há avaliações
- 3.1. Rayane Gomes Costa Exerccio Sobre Pargrafos CORREÇÃODocumento4 páginas3.1. Rayane Gomes Costa Exerccio Sobre Pargrafos CORREÇÃORayane GomesAinda não há avaliações