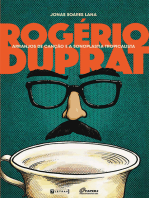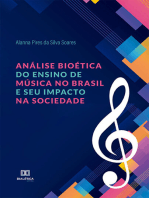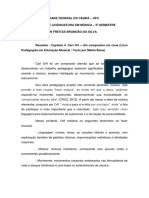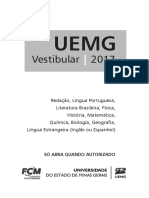Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Mukuna - Verdade Musicologia
Mukuna - Verdade Musicologia
Enviado por
caue_krugerDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Mukuna - Verdade Musicologia
Mukuna - Verdade Musicologia
Enviado por
caue_krugerDireitos autorais:
Formatos disponíveis
KAZADI WA MUKUNA Traduo de Saulo Adriano
KAZADI WA MUKUNA professor da Universidade de Kent (EUA) e autor de Contribuio Bantu na Msica Popular Brasileira (Global).
Os aspectos mais desaadores da etnomusicologia como campo de pesquisa cientca so a sua origem, a sua denio e os seus objetivos. Esses aspectos no s apresentam desaos aos estudiosos, como tambm constituem o cerne das diversas opinies que se apresentam de acordo com o foco das atividades nos vrios estgios evolutivos da disciplina, desde o estudo comparativo da msica no-ocidental at o estudo da msica dentro de seu contexto cultural. Ao discorrer sobre as mudanas pelas quais passou o campo da etnomusicologia nos Estados Unidos durante os primeiros 50 anos de sua existncia, Bonnie Wade (2006) comenta como os estudiosos desempenharam seu trabalho: Ns [etnomusiclogos] mudamos de um mtodo predominante e explicitamente comparativo para a pesquisa predominantemente etnogrca; de um enfoque inicial na msica na histria humana em termos evolutivos para um enfoque na msica em contato cultural; da anlise de estruturas de itens e sistemas para um enfoque na anlise de estruturas de signicados; de uma compreenso da msica como reexo de uma cultura para msica como fora de inuncia dentro de uma cultura e agente de sentido social; de um enfoque no lugar para um enfoque no espao; com nossas antenas alertas s importantes idias de outras disciplinas, as quais estamos prontos a explorar e com as quais esperamos contribuir por meio de nossos estudos musicais. Sob essa luz, a etnomusicologia deve ser denida como um campo de pesquisas em que o objetivo assenta-se alm do mero conhecimento de msica. Assim como no campo da arqueologia, cujo enfoque a reconstruo do passado do Homo sapiens, a etnomusicologia tem na msica seu tema de estudo, enquanto seu objetivo de contribuir para a compreenso de seus criadores, os seres humanos. Portanto, neste ensaio insto os estudiosos (etnomusiclogos, educadores musicais, musiclogos) a sondar mais profundamente as
1 A maioria das publicaes dessa categoria inclua em seus ttulos o prexo identicador A msica de, como por exemplo: J-B du Halde, On the Music of China, 1735; B. J. Gilman, Zuni Melodies, 1889; Charles Russell Day, The Music and Musical Instruments of Southern India and the Deccan, 1891; Sir Francis Taylor Piggott, The Music and Musical Instruments of Japan, 1893.
atividades envolvidas na expresso musical com o objetivo de decifrar seu sentido escondido e a responder a questo primria do porqu da msica ser como (Merriam, 1964, p. 7). Tambm argumento que, como disciplina scio-humana, a etnomusicologia um campo de pesquisa interdisciplinar repleto de ferramentas de pesquisa tomadas de emprstimo, e compostas a partir de teorias e mtodos de suas disciplinas irms, tais como a sociologia, a antropologia, a lingstica e a etnograa, dentre outras. As teorias e os mtodos comprovadamente aplicveis na busca pelos objetivos da etnomusicologia constituem as tendncias. Outras teorias, tais como as distines mico/tico, insider/ outsider, cuja signicncia interdisciplinar ainda no foi determinada, permanecem pontos em questo a serem tratados em estudos futuros. Os paradigmas de pesquisa adaptados pelos etnomusiclogos so congurados de acordo com os objetivos de pesquisa especcos. O exame de sua histria revela que, a despeito das mudanas e por um longo perodo desde sua concepo, a etnomusicologia esteve voltada principalmente para sua prpria denio, para a demarcao da natureza de seu campo de pesquisa e seus objetivos sua meta nal ou sua raison dtre. Em sua tentativa de propor uma teoria para este campo de estudos, Alan Merriam coloca a etnomusicologia juntamente com as cincias sociais e as humanidades. Seus procedimentos e metas, escreve Merriam (1964, p. 25), voltam-se para o lado das cincias sociais, enquanto seu eixo temtico um aspecto humanstico da existncia humana. Para legitimar sua existncia como campo de investigao cientca, a etnomusicologia se valeu grandemente da concluso a que chegou o llogo ingls John Ellis Alexandre (1885) em seu estudo sobre a existncia de vrias tradies musicais e seus sistemas de escalas, as quais eram baseadas em princpios diferentes dos encontrados na Europa. Durante os anos que se seguiram, foi publicado um grande nmero de trabalhos, os quais revelaram a variedade de tradies musicais do mundo, e a maioria deles apontava a diferena em
escalas e corroborava a teoria formulada no estudo de Alexandre1. Entretanto, com a publicao em 1964 de The Anthropology of Music, de Alan Merriam, a etnomusicologia gradualmente foi se orientando para um enfoque e interesse novos direcionados ao comportamento humano, com isso dotando essa disciplina de um objetivo mais signicativo. Merriam (1964, p. 7) dene a msica nestes termos: A msica um produto do comportamento humano e possui estrutura, mas sua estrutura no pode ter existncia prpria se divorciada do comportamento que a produz. Essa denio, a primeira do gnero, considera a msica um produto cultural. Como tal, permite a cada cultura conceber e perceber a msica em seus prprios termos e conceitos livres de inuncias externas. Embora essa denio antropolgica coloque a msica em um arcabouo novo e mais amplo, sua essncia no diferente da mirade de tentativas de denio formuladas por escritores como Jean-Jacques Rousseau (1767), quando este escreve que a msica a arte de organizar os sons para agradar aos ouvidos. A fragilidade presente nessa denio a sua viso eurocntrica, que dominava o perodo (sculo XVIII) em que foi conceituada. Apesar de qualquer idia que essa denio conote, permanece o fato de que os ouvidos a serem agradados so os do compositor. Embora ambas as denies queiram dizer o mesmo, a diferena entre elas jaz em suas articulaes, ou seja, na segunda a msica colocada num pedestal cultural mais amplo. Em outro estudo (Kazadi wa Mukuna, 1999, p. 184), argumentei que a meta nal do campo da etnomusicologia, como disciplina scio-humana, contribuir para a compreenso dos humanos no tempo e no espao por meio de suas expresses musicais. Para entender essa tendncia de pensamento, a ilustraremos a partir da perspectiva arqueolgica. Como cientista, a misso do arquelogo no procurar artefatos do passado pelo mero prazer de colar peas para restaurar sua beleza e forma antigas, e sim reconstituir como foram feitos esses objetos e, acima de tudo, como eles foram
14
REVISTA USP, So Paulo, n.77, p. 12-23, maro/maio 2008
utilizados pelos humanos para sua sobrevivncia em um tempo e espao diacrnicos. Em resumo, a meta nal da arqueologia contribuir para a compreenso dos humanos sobre como era seu modo de vida em um ponto de nosso passado histrico distante em um espao geogrco especco. A denio de msica de Merriam trouxe mudanas ao campo da etnomusicologia e clarica a meta nal de sua pesquisa. Sustenta que a msica seu objeto e no seu objetivo. Portanto, a ateno dos etnomusiclogos deve incluir mas no se limitar ao entendimento da estrutura fsica da expresso musical. Estes devem se empenhar em decifrar o fenmeno cultural que inuenciou o comportamento produtor de tal estrutura musical. Dessa maneira, os etnomusiclogos estaro cumprindo sua misso e no agindo de maneira subserviente como um co recolhedor em uma expedio de caa que busca a presa abatida e a traz ao seu mestre sem sentir seu sabor. Para encontrar o sentido, para encontrar a verdade da msica, os etnomusiclogos tm que investigar profundamente alm do elemento sonoro. Na equao a ser decifrada, a msica o elemento conhecido, enquanto o desconhecido o sentido/verdade existe abaixo de camadas de uma variedade de fenmenos que constituem o vcu (experincia de vida) de um indivduo e que inuenciam seu comportamento. Portanto, em uma busca etnomusicolgica, a verdade o que une a msica rede epistemolgica de uma cultura em seu todo, a fonte de todas as inuncias no comportamento humano (Asaev & Schoenberg, apud Tarasti, 1994, pp. 437). A fonte de tudo isso reside na cultura e esta est contextualmente entrelaada nas malhas da rede de relaes que constitui uma comunidade ou sociedade. O diagrama a seguir, extrado da denio de Merriam, faz uma interpretao em sentido inverso, a partir do conhecido para o desconhecido (Kazadi wa Mukuna, 1999, pp. 182-5). Essa lgica traz mente uma cena ctcia interessante quase no nal do lme O Planeta dos Macacos (20th Century Fox, 1968), que se passa em uma rea restrita. Mesmo se tratando de uma rea interditada
FIGURA 1 Paradigma estsico do modelo de Merriam
Msica (conhecido) Comportamento/Ao Conceito/Pensamento Rede de relaes
pelas autoridades, nessa zona proibida que o arquelogo Cornelius e sua esposa Zhura encontram alguns artefatos que sustentam a teoria reveladora da verdade temida pelas autoridades: o fato de que a civilizao dos macacos era posterior dos humanos. Para provar essa verdade alm de qualquer sombra de dvida, Cornelius e Zhura tiveram que interpretar uma srie de fatos visveis e invisveis no stio, desde uma vlvula cardaca defeituosa e armaes de culos at uma boneca beb humana para os quais o guardio da f no achou justicativas para remover do local. O argumento mais convincente era a prova tcita: a boneca humana falante que reduzia a zero qualquer argumento que o protetor da f ousasse propor, especialmente em uma civilizao em que os humanos eram mudos. De modo similar, a etnomusicologia exige uma investigao meticulosa alm do estudo da msica em seus prprios termos, conforme sugerido por William Bright quando distingue a busca pelo nvel endo-semntico da msica, que enfoca a anlise musical simplesmente, e seu nvel exo-semntico, o qual revela as fontes de inuncia extramusicais, e que leva ao seu sentido/verdade. Neste ensaio, fao uma observao mais aproximada das teorias selecionadas que recentemente se tornaram o corpo de tendncias na investigao etnomusicolgica.
REVISTA USP, So Paulo, n.77, p. 12-23, maro/maio 2008
15
REFLETIVIDADE OU ANLISE CONTEXTUAL
Uma das tendncias no raro mal interpretadas pelos etnomusiclogos renascidos a aplicao da teoria da reetividade, a qual procura revelar a extenso do reexo de uma manifestao cultural na msica, ou at que ponto o processo criativo musical determinado pelas atividades culturais de uma comunidade. Essa teoria geralmente confundida com a reexibilidade, teoria tomada da antropologia e voltada basicamente para o processo de auto-avaliao por meio do estudo dos outros. Porm, um modelo excelente de reetividade encontrado em Musical Practice and Creativity: an African Traditional Perspective, de 1991. Nesse estudo, Meki Nzewi demonstra como o conceito que rege o processo de oferenda de objetos de arte na cerimnia Mbari, entre o povo igbo da Nigria, fornece a prpria essncia de seu processo criativo musical. Nzewi d a entender que o processo criativo de improvisao em msica instrumental, como a arte Mbari, uma realizao em si mesma. Existe como um processo de realizao durante a criao e deixa de existir depois que completado. Embora o paralelismo entre manifestao cultural e processo criativo musical possa ser corroborado com exemplos de vrias culturas africanas, o estudo de Meki Nzewi enfoca primeiramente a compreenso da cerimnica Mbari, um aspecto no-sonoro da cultura, e depois traa um paralelo entre esse aspecto cultural e a produo musical. Entretanto, preciso distinguir entre as variadas categorias de composio musical para se descobrir que as composies para representao pertencentes s categorias de contextos religiosos e sociais, para as quais a eccia de seus rituais exige delidade estrita reproduo da msica e da dana, seguem um conjunto diferente de normas. Nesse contexto, prossegue Meki Nzewi (1991, p. 12), a composio musical ou a dana existe em perpetuidade e no se torna necessariamente uma estrutura de
referncia passada para uma nova experincia criativa a cada ocasio de representao subseqente. Com seu livro, Meki Nzewi comprovou o ponto central da teoria da reetividade, segundo a qual a msica espelha elementos do contexto no qual foi produzida; e esses elementos tambm fornecem sua anlise contextual. A importncia da anlise contextual reside tambm no fato de que voltada para a elucidao do objeto de estudo da etnomusicologia, que entender o porqu da msica de uma certa cultura ser da maneira que .
Na outra pgina, Mallum Gazawa tocando sua auta ciidal, Diamar, Camares, 1975
SEMIOLOGIA E MSICA
Tal como ocorre em qualquer campo de investigao cientca, a maior batalha jaz na busca por sua identidade, ou seja, na denio que revelar sua raison dtre e que resumir a essncia das atividades dessa disciplina. Isso tambm verdadeiro para a semiologia. Nattiez (1990, p. 33) escreve: A Semiologia no existe. Com isso, eu [Nattiez] quero dizer que no existe uma semiologia geral (no mesmo sentido de uma lingstica geral), ou seja, no h nenhum conjunto de conceitos, mtodos e regras que permita a anlise do simblico em qualquer domnio que ele exista. Em seu estudo Cours de Linguistique Generale, de 1949, Ferdinand de Saussure (apud Barthes, 1987, p. 13) adverte que a Lingstica no uma parte, mesmo privilegiada, da cincia geral dos signos, mas a semiologia sim que uma parte da Lingstica, ou seja, a parte que se encarrega das grandes unidades signicantes de discurso. Diferentemente de Peirce (1931-58, p. 275), que v o signo em trs sistemas operacionais (cone, ndice e smbolo) determinados de acordo com seu papel em determinado contexto, Saussure dene o signo como uma combinao de um conceito (uma idia/uma palavra) com um som-imagem que este evoca na mente do receptor. Visto por esse prisma, o entendimento da msica como um signo um ponto de partida para se explorar a semiologia musical e aceitar
16
REVISTA USP, So Paulo, n.77, p. 12-23, maro/maio 2008
que esse signo pode ser traduzido em outros sistemas de comunicao fora da linguagem verbal. Em outros termos, a criao musical est profundamente relacionada ao processo de construo de signicado baseado em signos culturalmente aceitos. Charles Boils (1982, pp. 27-8) adverte: Finalmente, chegamos ao nome mesmo do campo, o qual revela que uma forma encoberta de etnocentrismo um dos perigos da introspeco. A semiologia musical tem se ocupado principalmente com o que os estudiosos da Europa ocidental consideram como msica, ou seja, msica de arte. Eles se propem a estudar os signos da msica da forma como a conhecem, no da forma como em todas as culturas do mundo ou mesmo em subgrupos de sua prpria cultura. [] H muito a ser aprendido pelo estudo dos signos musicais na forma como existem entre as culturas pelo contraste de tradies musicais e no pela limitao de nosso escopo a um tipo de expresso musical em nossa prpria cultura. apenas a partir dessa perspectiva que as teorias, conceitos e metodologias semiolgicas podem ser corretamente aplicados msica. A etnomusicologia opera com o conceito dinmico de signo tal como proposto por Jean-Jacques Nattiez (1990)2 e por Charles Peirce (apud Jakobson, 1973). Alm disso, esses aspectos analticos dos signos propostos por Nattiez tm servido para o estudo da msica em geral. Contudo, sendo consciente da confuso que pode vir da anlise do prprio trabalho com o processo construtivo e a interpretao do signo, Nattiez prope um paradigma analtico que inclui uma abordagem tripartite: 1) anlise do processo poitico, similar ao procedimento criativo do produtor; 2) anlise do processo estsico, o qual enfoca o produto a partir da perspectiva do receptor; 3) anlise do trao ou em nvel neutro, o qual examina a manifestao fsica, material simblico como o texto, a partitura, gravao e coisas do gnero. Mesmo esse paradigma precisa ser modicado antes de sua aplicao pela
Gerhard Kubik
investigao etnomusicolgica. O propsito desta levar o contexto em grande considerao, ou seja, o comportamento total de toda a rede de relaes que inuenciou o compositor. O ponto fraco desse modelo paradigmtico tal qual sugerido por Nattiez reside no fato de que o foco central colocado no ouvinte da msica, de forma que ignora a inuncia da experincia cultural do ouvinte no produto. O perigo desse modelo que a opinio expressa pelo ouvinte a respeito da msica revela a sua experincia pessoal (vcu), mas no corresponde necessariamente ao compositor ou a seu tecido cultural. Uma observao mais cuidadosa do modelo analtico proposto por Nattiez deve ser comparada sugerida pela denio de msica de Alan Merriam citada anteriormente. Em sua denio, a msica o elemento conhecido da equao. O objetivo desse exerccio
2 Saussure deniu o signo como uma combinao de um conceito com um som ou uma imagem, e o dividiu em duas entidades: o signicante e o significado. Um se refere expresso (termo tambm usado por Peirce) e o outro se refere ao sentido (ou, como Peirce preferiria dizer, interpretante). Peirce desenvolveu esse modelo revelando que um signo no um conceito esttico, mas que, para ser interpretado, o receptor (a quem a mensagem dirigida) constri novos signos equivalentes ou mais desenvolvidos, em um processo que ele chama de interpretao. Nattiez vai alm ao demonstrar que essa interpretao varia de leitor para leitor, pois est enraizada nas experincias (vcu) do receptor. A teoria da comunicao opera com seis conceitos bsicos: emissor, mensagem, receptor, contexto, meio e cdigo. Em todos esses conceitos a semiologia utilizada.
REVISTA USP, So Paulo, n.77, p. 12-23, maro/maio 2008
17
Meninos aprendendo a tocar tambores dndn em Oshogbo, Nigria, 1963
encontrar o desconhecido, que o vcu do compositor. Nessa segunda denio, a equao est resolvida, o sentido oculto da msica decifrado pelo entendimento do que constitui a experincia que inuenciou o conceito o qual, por sua vez, inuenciou o comportamento do compositor a ponto de fazer com que ele compusesse a msica de uma determinada maneira. Isso nos daria a resposta questo do porqu ser a msica do jeito que . apenas pela aplicao desse paradigma de pesquisa que a meta primordial da etnomusicologia pode ser alcanada a contento e, com isso, tambm se chegar revelao da verdade que se busca. Essa proposta procura inspirar a preocupao fundamental que continua a assombrar os etnomusiclogos: a delimitao
Gerhard Kubik
do parmetro no qual um signo opera, considerando que a msica criada em um contexto cultural, e que tanto o processo criativo quanto sua interpretao esto enraizados no mesmo contexto. Portanto, um etnomusiclogo deve concordar com a observao feita por Boils (1982), segundo a qual a maioria das culturas no-ocidentais ainda no desenvolveram um conceito para a discusso de um comportamento musical. Compartilhando essa viso, John Blacking (1981) arma que necessrio criar um paradigma analtico que tenha um norteamento antropolgico que incorpore todas as concepes tnicas. Dessa maneira, continua Blacking, a anlise tem de comear com a classicao do que socialmente aceito, mesmo que isso implique um conito com a idia que a etnomusicologia tem acerca da natureza da msica em uma determinada cultura. Para Blacking (1981, p. 189), cdigo e mensagem so inseparveis na msica: Na anlise das tradies orais, o produto musical no pode ser visto como um niveau neutre [nvel neutro] isolado dos sentidos performticos que possui e daqueles que o esto produzindo e sentindo. Ele sustenta que a abordagem ideal da semiologia da msica est na observao das diferentes estruturas entre seus contingentes. somente dessa maneira que se pode alcanar um entendimento de sua realidade. Assim, o conceito musical o produto dos processos de interao nos quais seu signicante/sentido conseguido com a soma de seus signicados/interpretantes em uma comunidade. Isso justica a preocupao com o desenvolvimento da semiologia da msica, denindo o que considerado msica e o que no . Em outras palavras, se a denio de msica derivada culturalmente ou variada de acordo com o compositor, intrprete, ouvinte e com o analisador do fenmeno em questo, Blacking (1981) sugere que devemos incorporar todas as vises tnicas sobre msica para observar como elas se encontram relacionadas. Entretanto, a semiologia apenas uma outra ferramenta tomada de emprstimo e aplicada em etnomusicologia na busca pela
18
REVISTA USP, So Paulo, n.77, p. 12-23, maro/maio 2008
verdade na msica, pois sua multiplicidade percebida na relao da msica com os seres humanos. Por ser um sistema intrincado de signos, a msica criada a partir de um contexto cultural especco. Como todos os signos culturalmente denidos, o simbolismo musical contm diversos sentidos dentro de uma esfera limitada onde opera semanticamente (Kazadi wa Mukuna, 1997). A msica que criada, executada ou ouvida um produto de variados contextos, e o ouvinte precisa estar ciente da diversidade das inuncias culturais na msica. Em outras palavras, em etnomusicologia a meta da semiologia se ater aos padres mais que ao contedo, procurar a estrutura mais que a interpretao de sentidos (Monelle, 1992, p. 5). A etnomusicologia se aproveita da anlise profunda fornecida pela semiologia para contribuir para o entendimento do ser humano por meio do entendimento da congurao estrutural de sua criao (humana) musical. Portanto, em etnomusicologia a semiologia deve ser compreendida como uma cincia que estuda os signos musicais em seu contexto cultural que leva compreenso do produto musical, e no como uma cincia que estuda os signos da msica (Boils, 1982, p. 28). Como disciplina de indagao cientca na qual o sujeito a msica um fenmeno universal, na expresso de Boils, a etnomusicologia opera dentro de um permetro especco para revelar o designatum (imagem do som) de interesse considervel para a cultura dentro da qual se origina. Joga luz no processo criativo da msica em seu contexto cultural para elucidar a mistura de seus universais em uma textura e evoca um signicado nico que pertence a um povo (Steiner, 1981, p. 3; Boils apud Monelle, 1992, p. 187).
identicados semiologicamente. Ao comentar sobre o poder semntico da msica, Igor Stravinsky (1936, p. 53) arma: Considero a msica, por sua natureza, basicamente impotente para exprimir o que quer que seja: um sentimento, uma atitude mental, um estado psicolgico, um fenmeno da natureza, etc. [] A expresso nunca foi uma propriedade inerente msica. por isso que no de forma alguma o propsito de sua existncia. Os aspectos no-sonoros incorporados na msica so importantes nesse processo por serem referenciais ao contexto no qual a msica produzida. Dois nveis estruturais podem ser considerados na msica conforme proposto por William Bright (1963): o endo-semntico e o exo-semntico. Enquanto no primeiro os elementos sonoros
Kola Ogunmola, considerado o pioneiro do teatro moderno na Nigria, em fotograa dos anos 50 (Kubik, 1989)
SEMNTICA E MSICA
Como um desenvolvimento da semiologia, a semntica aplicada em inquiries etnomusicolgicas para explicar o processo criativo de sentidos dos signos musicais
REVISTA USP, So Paulo, n.77, p. 12-23, maro/maio 2008
19
Msico com seu instrumento kora em carto postal histrico do Senegal, provavelmente nal do sc. XIX
tais como as alturas, as estruturas das frases musicais e o timbre constituem o foco do estudo, no caso do segundo, a ateno direcionada aos aspectos no-sonoros (extramusicais) que inuenciaram a natureza da msica como expresso. Pode-se armar ento que, como reexo de valores culturais e sociais pertencentes a um determinado grupo, a msica incorpora a interpretao enraizada no vcu (experincia de vida) do produtor individual. Portanto, a m de obter uma interpretao que seja mais prxima da realidade do signo musical a verdade , o etnomusiclogo
precisa levar em considerao vrios aspectos (memria individual), a soma destes enquanto agregados (memria coletiva) e reconstruir um quadro que seja o mais prximo possvel da verdade (Halbwachs, 1968). De acordo com Nattiez (1990, p. 109), a msica marcada pela complexa rede de interpretantes. Monelle (1992, p. 12) aponta: Se a msica uma linguagem inerente, baseada em correspondncias naturais entre sons e sentidos, ento o que os semilogos chamariam de signo indexical. Tenho que concordar com Stravinsky (1936) quando arma que os sentimentos e as imitaes no so sentidos, e sim qualidades. A interpretao que atribuda msica est relacionada a vrios fatores contextuais. Em uma de suas famosas composies, O Trenzinho do Caipira (Bachianas Brasileiras, no 2), Heitor Villa-Lobos produz o som de um trem em movimento por meio do uso de instrumentos musicais. A questo que pode ser colocada aqui : seria esse som reconhecido por todos os ouvintes, mesmo os que jamais o ouviram antes? Teriam eles a mesma reao emotiva? Caso contrrio, o que seria? Tudo isso depende do vcu do ouvinte individual que, conforme armei em outro lugar, a msica apenas opera semanticamente como um veculo de comunicao em um determinado permetro cultural (Kazadi wa Mukuna, 1997). Se o som por si s incapaz de conduzir sentido, ento quaisquer sentidos extrados da msica derivam de associaes extrnsecas (circum) ou extramusicais (Monelle, 1992, pp. 9-10).
PONTOS EM QUESTO
Em etnomusicologia, pontos em questo so as teorias a respeito das quais o debate sobre sua aplicabilidade continuam inconclusos. Embora algumas teorias, tais como as distines mico/tico e insider/outsider, assim como etnicidade, identidade, globalizao e world music tenham se tornado palavras da moda entre os estudiosos,
20
REVISTA USP, So Paulo, n.77, p. 12-23, maro/maio 2008
elas continuam se mostrando controversas quando de sua aplicao. Seu sentido reside no reino losco que aberto a mais do que meras opinies ou discusses. Algumas teorias soam considerveis, como a teoria quntica da msica, tomada de emprstimo da fsica e postulada para uso na etnomusicologia por Ki Mantle Hood (s.d.), e antropologia musical, sugerida por Anthony Seeger em seu livro Why Suy Sing: a Musical Anthropology of an Amazonian People, de 1987, uma espcie de jogo de palavra a partir do trabalho seminal The Anthropology of Music de Alan Merriam. Contudo, permanecem ainda em fase probatria.
CONCLUSES
As mudanas, conforme demarcadas por Bonnie Wade (2006), no apenas delineiam os vrios estgios evolutivos da etnomusicologia, como tambm revelam a ambigidade que tem enevoado desde o modo como a pesquisa conduzida at a maneira como os resultados so apresentados. Considerando as idias a respeito de cultura, Wade (2006, p. 196) escreve: J samos de um entendimento de cultura com um complexo unicado de elementos que trabalham em conjunto para criar um todo homogneo e integrado, para a viso de cultura como um sistema ordenado de sentido e de smbolos em relao ao qual a interao social ocorre. Essas diculdades substanciam os vrios encargos que qualquer campo de investigao jovem se v obrigado a suportar antes de descobrir a essncia real de seus objetivos. Por outro lado, ao olharmos para a lista de teorias e metodologias tomadas de emprstimo e citadas anteriormente, deve car claro que na qualidade de disciplina scio-humana, a etnomusicologia tem um direito cristalino que lhe permite pedir livremente emprstimos de quaisquer disciplinas irms.
preciso tambm que se tenha em mente que qualquer que seja a teoria emprestada, esta deve ser modicada antes de poder ser aplicada, ou reinterpretada de antemo para se adequar busca dos objetivos da etnomusicologia. Quando esse processo falha, a metodologia emprestada se torna obsoleta e no raro deixada de lado durante as fases evolutivas da etnomusicologia. Podem tambm simplesmente permanecer abandonadas em meio aos pontos em questo. Um exemplo excelente disso so os paradigmas semiolgicos poitico, estsico e neutro propostos por Nattiez e discutidos anteriormente, os quais foram modicados para aplicao em etnomusicologia. Enquanto o primeiro desses paradigmas enfatiza a anlise musical a partir da perspectiva do compositor, o segundo enfatiza a mesma anlise a partir do ponto de vista do ouvinte, enquanto no terceiro o foco colocado na msica em funo de si mesma. Como forma de modicao, na perspectiva estsica, necessrio que se compreenda que o ouvinte em questo o pesquisador. Em minha modesta opinio, o maior dos problemas nesse caso reside na falta de clareza da parte dos autores que evitam assumir uma postura vis--vis em relao identidade dos elementos conhecidos e desconhecidos da equao. Isso no apenas vital, crucial. A esse respeito, Boils sugere que o estudioso leve em considerao todos os fatores a respeito de msica a m de determinar qual paradigma aplicar no estudo, se poitico ou estsico. Se o elemento conhecido na equao a msica, o que ouvido, ento o elemento desconhecido que o etnomusiclogo busca a verdade/o sentido encontrado na soma do comportamento derivado de todos os crculos dentro da rede de relaes na qual o compositor o elo, pois eles denotam uma grande poro do vcu do compositor. Em outras palavras, o paradigma apropriado para se adaptar a uma investigao etnomusicolgica o estsico, e no o poitico. somente com a aplicao desse procedimento que um etnomusiclogo atingir sua meta nal que tenho defendido em muitos de meus escritos (Kazadi wa Mukuna,
REVISTA USP, So Paulo, n.77, p. 12-23, maro/maio 2008
21
2003, p. 16; 1979-80, p. vii) contribuir para o entendimento da humanidade por meio de sua expresso musical no tempo e no espao. Isso fundamentado por Merriam (1964, p. 71) com estas palavras: A m de entender por que uma estrutura musical existe da forma como existe, precisamos tambm entender como e por que o comportamento
que a produziu da maneira que , e como e por que os conceitos que subjazem a tal comportamento esto ordenados de tal maneira de modo a produzir a forma desejada particular de som organizado. Se chegar a menos que isso, o pesquisador no digno de ser chamado de etnomusiclogo, e sim de co recolhedor de caa.
BIBLIOGRAFIA
ADLER, Guido. Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft, in Vierteljahrschrift fur Musikwissenschaft 1, 1985, pp. 5-55. ALEXANDRE, John Ellis. On the Musical Scales of Various Nations, in Journal of the Society of Arts XXXIII, 27/3/1885, pp. 485-527, 30/10/1885, pp. 1.102-11. BARTHES, Roland. Elementos de Semiologia. So Paulo, Cultrix, 1987. BLACKING, John. The Problem of Ethnic Perceptions in the Semiotics of Music in Wendy Steiner (org.). The Sign in Music and Literature. Austin, University of Texas Press, 1981, pp. 184-94. BOILS, Charles L. Processes of Musical Semiosis, in Yearbook for Traditional Music 14, 1982, pp. 24-44. ________.Smiotique de lEthnomusicologie, in Kay Shalamay (ed.). Garland Reading in Ethnomusicology, vol. 2, 1990, pp. 174-81. BRIGHT, William. Language and Music: Areas for Cooperation, in Ethnomusicology VII, 1, 1963, pp. 26-32. HALBWACHS, Maurice. La Mmoire Collective. Paris, Presses Universitaires de France, 1968. HOOD, Ki Mantle. The Quantum Theory of Music II, in World Music Reports 1, 1 (s/d), pp. 10-5. JAKOBSON, Roman. Lingstica e Comunicao. So Paulo, Cultrix, 1973. KAZADI WA MUKUNA. Preface, in African Urban Studies 6, inverno 1979-80, pp. vii-viii. ________. The Universal Language of All Time?, in International Journal of Music Education 29, 1997, pp. 47-51. ________. Ethnomusicology and the Study of Africanisms in the Music of Latin Amrica: Brazil, in Jacqueline Cogdell Djedje (ed.), Turn Up the Volume: a Celebration of African Music, Los Angeles, The University of Califrnia Press, 1999, pp. 182-5. ________. Prefcio, in Mnica Neves Leme. Que Tchan Esse? Indstria e Produo Musical no Brasil dos Anos 90. So Paulo, Annablume, 2003. KOFI AGAWU V. Playing with Signs: a Semiotic Interpretation of Classic Music. Princeton, Princeton University Press, 1991. KUBIK, Gerhard. Westafrika. Musikgeschichte in Bildern, vol 1. Leipizig,1989. ________. Ethnicity, Cultural Identity, and the Psychology of Culture Contact, in Gerard Behgue (ed.). Music and Black Ethnicity: the Caribbean and South Amrica. Miami, University of Miami North-South Center, 1994, pp. 17-46. ________. Emics and Etics: Theoretical Considerations, in African Music 7 (3), 1996, pp. 3-10. LEME, Mnica Neves. Que Tchan Esse? Indstria e Produo Musical no Brasil dos Anos 90. So Paulo, Annablume, 2003. MACHE, Franois-Bernard. Language and Music, in Music, Myth and Nature. Paris, Meridiens Klincksieck, 1983, pp. 59-94. MEKI NZEWI. Musical Practice and Creativity: an African Traditional Perspective. Bayreuth, Iwalewa-Haus, University of Bayreuth, 1991. MERRIAM, Alan. The Anthropology of Music. Evanston, Northwestern University Press, 1964.
22
REVISTA USP, So Paulo, n.77, p. 12-23, maro/maio 2008
MEYER, L. B. Universalism and Relativism in the Study of Ethnic Music, in Ethnomusicology 4, 2, 1960, pp. 49-54. MONELLE, Raymond. Linguistics and Semiotics in Music. Chur, Harwood Academic Publishers, 1992. NATTIEZ, Jean-Jacques. A Theory of Semiology, in Music and Discourse: Toward a Semiology of Music. Princeton, Princeton University Press, 1990, pp. 3-37. NETTL, Bruno. Recent Directions in Ethnomusicology, in Helen Myers (ed.). Ethnomusicology: an Introduction. Nova York, W. W. Norton & Company, 1992, pp. 375-99. ________. The Study of Ethnomusicology:Thirt-one Issues and Conceptions. New Edition. Chicago, University of Chicago Press, 2005. OSMOND-SMITH, David. Music as Communication: Semiology or Morphology?, in International Review of Aesthetics and Musical Sociology 2, 1971, pp. 108-11. PEIRCE, Charles Sanders. Collected Papers. Cambridge (Mass), Harvard University Press, 1931-58. PINTO, Tiago de Oliveira. The Discourse about Others Music, in African Music 7 (3), 1996, pp. 21-9. RICE, Timothy. Toward the Remodeling of Ethnomusicology, in Garland Reading in Ethnomusicology. vol. 2, 1990, pp. 320-48. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Dictionnaire de Musique. Paris, Emile et Sophie, 1767. SEEGER, Anthony. Why Suy Sing: a Musical Anthropology of an Amazonian People. Nova York, Cambridge University Press, 1987. STEINER, Wendy (ed.). The Sign in Music and Literature. Austin, The University of Texas Press, 1981. STRAVINSKY, Igor. An Autobiography. Nova York, W. W. Norton & Company, 1936. TARASTI, Eero. A Theory of Musical Semiotics. Bloomington, Indiana University Press, 1994. ULLMANN, Stephen. Principles of Semantics. Oxford, Blackwell, 1963. WADE, Bonnie. Fifty Years of SEM in the United States: A Retrospective, in Ethnomusicology 50, 2. Primavera/vero 2006, pp. 190-198. WIDDES, Richard. Historical Ethnomusicology, in Heln Myers (ed.). Ethnomusicology: an Introduction. Nova York, W. W. Norton & Company, 1992, pp. 219-37.
REVISTA USP, So Paulo, n.77, p. 12-23, maro/maio 2008
23
Você também pode gostar
- Ebós Oriundos Do CandombléDocumento38 páginasEbós Oriundos Do CandombléCrochetsurgeon91% (56)
- Cartilha Informativa Orientacao para Pais e MaesDocumento57 páginasCartilha Informativa Orientacao para Pais e MaesMyriam Christina Rodrigues100% (3)
- 057 Hirlândia Milon NevesDocumento9 páginas057 Hirlândia Milon NevesGemima AlmeidaAinda não há avaliações
- 150 Simbolos e Arquetipos de PoderDocumento4 páginas150 Simbolos e Arquetipos de PoderMarciaBarreto100% (9)
- Parametros de Avaliaçao Canto CoralDocumento2 páginasParametros de Avaliaçao Canto CoralLourdes Leite100% (1)
- FORMAÇÃO DE PLATÉIA EM MÚSICA - Arlindo Luis Osório - PLANO DAS AULASDocumento4 páginasFORMAÇÃO DE PLATÉIA EM MÚSICA - Arlindo Luis Osório - PLANO DAS AULASGhadyego CarraroAinda não há avaliações
- Construção Da Performance MusicalDocumento14 páginasConstrução Da Performance MusicalzharboAinda não há avaliações
- CANDOMBLÉDocumento93 páginasCANDOMBLÉapi-3730808100% (9)
- Os Mitos - Fontes Simbólicas Da Psicologia de Carl Jung PDFDocumento11 páginasOs Mitos - Fontes Simbólicas Da Psicologia de Carl Jung PDFLeandroRodrigues100% (2)
- NG1 DR1 Proposta de Trabalho PDFDocumento5 páginasNG1 DR1 Proposta de Trabalho PDFSónia BaptistaAinda não há avaliações
- Dicionário Algarvio de Termos e Dizeres Do Algarve (Já Com o Novo Acordo Ortográfico) - Vitor MadeiraDocumento137 páginasDicionário Algarvio de Termos e Dizeres Do Algarve (Já Com o Novo Acordo Ortográfico) - Vitor MadeiraCarmen Dolores100% (1)
- Rogério Duprat: Arranjos de canção e a sonoplastia tropicalistaNo EverandRogério Duprat: Arranjos de canção e a sonoplastia tropicalistaAinda não há avaliações
- Análise Bioética do Ensino de Música no Brasil e seu Impacto na SociedadeNo EverandAnálise Bioética do Ensino de Música no Brasil e seu Impacto na SociedadeAinda não há avaliações
- Music on Deaf Ears: Significado Musical, Ideologia e EducaçãoNo EverandMusic on Deaf Ears: Significado Musical, Ideologia e EducaçãoAinda não há avaliações
- Jean Jacques Nattiez Etnomusicologia e SignificaçõesDocumento26 páginasJean Jacques Nattiez Etnomusicologia e SignificaçõesNúbia AguilarAinda não há avaliações
- Kodaly e GordonDocumento6 páginasKodaly e GordonGerônimo SilvaAinda não há avaliações
- Revisão Dos Métodos e Técnicas de SolfejoDocumento11 páginasRevisão Dos Métodos e Técnicas de SolfejoNicolle VieiraAinda não há avaliações
- O HUMANO COMO OBJETIVO DA EDUCAÇÃO MUSICAL Teca Brito PDFDocumento10 páginasO HUMANO COMO OBJETIVO DA EDUCAÇÃO MUSICAL Teca Brito PDFpougyAinda não há avaliações
- Flo MenezesDocumento13 páginasFlo MenezesbernardeteAinda não há avaliações
- Os Percursos Da Etnomusicologia Feminista Nas Últimas Quatro Décadas: Uma Visão de Dentro Por Ellen KoskoffDocumento4 páginasOs Percursos Da Etnomusicologia Feminista Nas Últimas Quatro Décadas: Uma Visão de Dentro Por Ellen KoskoffRodrigo CantosAinda não há avaliações
- Arqueologia Da Dança Por Bruna Antoneli Marins LopesDocumento79 páginasArqueologia Da Dança Por Bruna Antoneli Marins Lopesafp2301Ainda não há avaliações
- Artigo Beineke - Filosofia Da Educação MusicalDocumento7 páginasArtigo Beineke - Filosofia Da Educação MusicalFABIOLA SANTOS DE ARAUJOAinda não há avaliações
- Ensino Coletivo de Violão - Proposta para Disposição Física Dos Estudantes em Classe e Atividades Correlatas - Artigos - Sala de Leitura - Instituto Arte Na EscolaDocumento2 páginasEnsino Coletivo de Violão - Proposta para Disposição Física Dos Estudantes em Classe e Atividades Correlatas - Artigos - Sala de Leitura - Instituto Arte Na EscolaMarcel TorresAinda não há avaliações
- Artigos Diversos Sobre Teoria Musical - Wikipédia PDFDocumento127 páginasArtigos Diversos Sobre Teoria Musical - Wikipédia PDFWladimir PereiraAinda não há avaliações
- A Abordagem FuncionalDocumento1 páginaA Abordagem FuncionalMarcela SantosAinda não há avaliações
- Exercicios Instrumentos TranspositoresDocumento2 páginasExercicios Instrumentos TranspositoresRubens NegrãoAinda não há avaliações
- Hisitoria Do Barroco PDFDocumento215 páginasHisitoria Do Barroco PDFJoao Roberto PereiraAinda não há avaliações
- Fichamento - Os Problemas Da EstéticaDocumento6 páginasFichamento - Os Problemas Da EstéticaEduardo FreitasAinda não há avaliações
- Conceitos de Instrumentação e Orquestração - Rodrigo Castro Leite CordeiroDocumento3 páginasConceitos de Instrumentação e Orquestração - Rodrigo Castro Leite CordeiroRodrigo CordeiroAinda não há avaliações
- Koelrreutter - Educação Musical No Terceiro MundoDocumento8 páginasKoelrreutter - Educação Musical No Terceiro MundoLaftelAinda não há avaliações
- Plano de Ensino de Fundamentos Da Educação MusicalDocumento3 páginasPlano de Ensino de Fundamentos Da Educação MusicalRanderson Alex Gama LuzAinda não há avaliações
- Cantus FirmusDocumento3 páginasCantus FirmusamandapeliAinda não há avaliações
- Capitulo 7 - Pedagogias Brasileiras em Educacao Musical - Miolo IsiDocumento23 páginasCapitulo 7 - Pedagogias Brasileiras em Educacao Musical - Miolo IsiGloriaCunha100% (1)
- Metodologia Do Ensino Da MúsicaDocumento2 páginasMetodologia Do Ensino Da Músicacleomoraes70% (1)
- Apostila Musical - Historia Da Musica Ocidental e InstrumentosDocumento11 páginasApostila Musical - Historia Da Musica Ocidental e Instrumentosdrigenovese100% (1)
- G - EMU - MEM3 - 5 - 1 - Aula 03 - Violeta GainzaDocumento5 páginasG - EMU - MEM3 - 5 - 1 - Aula 03 - Violeta GainzaClaudio Guillen TellesAinda não há avaliações
- Fundamentos Da Dança de Helenita Sá Earp Apostila Didatica EditadaDocumento64 páginasFundamentos Da Dança de Helenita Sá Earp Apostila Didatica Editadacarolwuppel100% (3)
- Jose M Nunes Garcia e A Real Capela de D. João VI Norio de Janeiro PDFDocumento6 páginasJose M Nunes Garcia e A Real Capela de D. João VI Norio de Janeiro PDFLegniwhcs SevolcAinda não há avaliações
- De Uma Tecnologia A Outra - François DelalandeDocumento10 páginasDe Uma Tecnologia A Outra - François DelalandeDiego DeitosAinda não há avaliações
- Memória Auditiva Na MusicaDocumento81 páginasMemória Auditiva Na MusicavghvAinda não há avaliações
- Resumo 2 Acústica MusicalDocumento7 páginasResumo 2 Acústica MusicalIsaac James ChiarattiAinda não há avaliações
- Filosofia Da Nova Musica PDFDocumento84 páginasFilosofia Da Nova Musica PDFBruna Diaz100% (2)
- TOLEDO NASCIMENTO - DissertacaoDocumento104 páginasTOLEDO NASCIMENTO - DissertacaoÉdipoAinda não há avaliações
- Música Educação e Vida Cotidiana - Jusamara SouzaDocumento22 páginasMúsica Educação e Vida Cotidiana - Jusamara SouzamurilobassAinda não há avaliações
- Ethos Na Musica GregaDocumento14 páginasEthos Na Musica GregaArnaldo Marques CaldeiraAinda não há avaliações
- Carlos Augusto Crisóstomo de MoraisDocumento38 páginasCarlos Augusto Crisóstomo de MoraisIsabelle Caroline CampêloAinda não há avaliações
- CARDOSO MetodoEducacaoMusicalDocumento39 páginasCARDOSO MetodoEducacaoMusicalleonunes80Ainda não há avaliações
- Jean LANCRI e Sandra REY - Modestas Proposições Sobre As Condições de Uma Pesquisa em Artes Plásticas Na UniversidadeDocumento18 páginasJean LANCRI e Sandra REY - Modestas Proposições Sobre As Condições de Uma Pesquisa em Artes Plásticas Na UniversidadeDaniela SatoAinda não há avaliações
- PARTIMENTO AS IMPROVISATION PEDAGOGY RENEWING A LOST ART - Stephanie KhouryDocumento15 páginasPARTIMENTO AS IMPROVISATION PEDAGOGY RENEWING A LOST ART - Stephanie KhouryPauloAinda não há avaliações
- Swanwick, Keith. Ensinando Música MusicalmenteDocumento4 páginasSwanwick, Keith. Ensinando Música MusicalmenteCaio Barros100% (1)
- A Importância Do Canto Coral Como Meio de MusicalizaçãoDocumento34 páginasA Importância Do Canto Coral Como Meio de MusicalizaçãoRafael KashimaAinda não há avaliações
- Vigotski, L. S. - 1929-2006 - Vontade (Ideia Central)Documento5 páginasVigotski, L. S. - 1929-2006 - Vontade (Ideia Central)CorpoSemÓrgãosAinda não há avaliações
- Análise - Sinfonia #40 in G Minor, K.550 Wolfgang Amadeus Mozart.Documento6 páginasAnálise - Sinfonia #40 in G Minor, K.550 Wolfgang Amadeus Mozart.Débora IldêncioAinda não há avaliações
- Psicopedagogia e Tecnica VocalDocumento20 páginasPsicopedagogia e Tecnica VocalMarcela Wanderley100% (1)
- Da Música Popular À MPB Um Século de Música e Disco No BrasilDocumento12 páginasDa Música Popular À MPB Um Século de Música e Disco No BrasilAdriano PinheiroAinda não há avaliações
- Dó, Ré, Mi, Fá e Muito Mais Discutindo o Que É MusicaDocumento8 páginasDó, Ré, Mi, Fá e Muito Mais Discutindo o Que É MusicaLudmilla BarbosaAinda não há avaliações
- Contribuições Da Teoria Vigotskiana para A Educação MusicalDocumento9 páginasContribuições Da Teoria Vigotskiana para A Educação MusicalAntonio CastroAinda não há avaliações
- Música Brasileira e Jazz - o Outro Lado Da HistóriaDocumento5 páginasMúsica Brasileira e Jazz - o Outro Lado Da HistóriamoriabiegerAinda não há avaliações
- O Movimento Do Canto Orfeonico No BrasilDocumento3 páginasO Movimento Do Canto Orfeonico No BrasilPéricles NarbalAinda não há avaliações
- Carl OrffDocumento2 páginasCarl OrffAnderson FreitasAinda não há avaliações
- História Da OperaDocumento7 páginasHistória Da OperaAle BrittoAinda não há avaliações
- Flauteando... Boi de Mamao PDFDocumento9 páginasFlauteando... Boi de Mamao PDFlipecantaoAinda não há avaliações
- Tiago Costa PDFDocumento328 páginasTiago Costa PDFAntonella FrancoAinda não há avaliações
- Milícia Some Com o Corpo de JovemDocumento2 páginasMilícia Some Com o Corpo de JovemMenderson NzangebyAinda não há avaliações
- Michael Davis - Poética de AristótelesDocumento34 páginasMichael Davis - Poética de AristótelesMenderson NzangebyAinda não há avaliações
- Fichas de Validação Stc7 TarDocumento13 páginasFichas de Validação Stc7 TarDomingos PinhoAinda não há avaliações
- Como Ler e Interpretar Documentos EscritosDocumento3 páginasComo Ler e Interpretar Documentos EscritosMad GuizmoAinda não há avaliações
- Prova UEMGDocumento60 páginasProva UEMGFabiano XavierAinda não há avaliações
- Silvio RomeroDocumento73 páginasSilvio RomeroAntonio Carlos SousaAinda não há avaliações
- Conheça Um Manual de Etiqueta para Ser Um Bom ChefeDocumento2 páginasConheça Um Manual de Etiqueta para Ser Um Bom ChefeRodrigo Debora BelloniAinda não há avaliações
- Goiânia No Coração Do BrasilDocumento2 páginasGoiânia No Coração Do BrasilPamella FernandaAinda não há avaliações
- Diagnosticosocialmunicipiomaia 02 2015Documento364 páginasDiagnosticosocialmunicipiomaia 02 2015AntonioAinda não há avaliações
- 001 Matrizes Do Pensamento PsicológicoDocumento54 páginas001 Matrizes Do Pensamento Psicológicofelipe freitas tellesAinda não há avaliações
- Linguagem Vocativo Aposto e SinaisDocumento7 páginasLinguagem Vocativo Aposto e SinaisFernanda Portugal BarretoAinda não há avaliações
- DinamicasDocumento105 páginasDinamicasbeatriz_campos98% (181)
- Textos CasamentoDocumento7 páginasTextos CasamentoMarta PereiraAinda não há avaliações
- Jung, Vida e ObraDocumento2 páginasJung, Vida e ObraCamila CarbogimAinda não há avaliações
- A Morte Do PlanetaDocumento258 páginasA Morte Do PlanetaMário Tadeu ChechiAinda não há avaliações
- Educação Da Superalma Sete - Parte InicialDocumento52 páginasEducação Da Superalma Sete - Parte InicialatentoempazAinda não há avaliações
- 05 - Capítulo 2 - Como EscrevemosDocumento6 páginas05 - Capítulo 2 - Como EscrevemosThays PrettiAinda não há avaliações
- Resumo Ciencias Naturais e HumanasDocumento2 páginasResumo Ciencias Naturais e HumanasManuel Jose100% (2)
- 332 As Acoes Dos Anjos Caidos Segundo A BibliaDocumento3 páginas332 As Acoes Dos Anjos Caidos Segundo A BibliamartemsantiagoAinda não há avaliações
- Luiz A. Garcia-Roza - Acaso e Repetição em Psicanálise - Uma Introdução À Teoria Das PulsõesDocumento129 páginasLuiz A. Garcia-Roza - Acaso e Repetição em Psicanálise - Uma Introdução À Teoria Das PulsõesMariana FontesAinda não há avaliações
- ChakrasDocumento55 páginasChakrascarloscarloscarlosca100% (3)
- Fiorini Cap 05Documento55 páginasFiorini Cap 05Thiago SilvaAinda não há avaliações
- Bourdieu 123Documento4 páginasBourdieu 123Mateus Alves0% (1)
- A Entrevista No CapsDocumento1 páginaA Entrevista No CapsSulleyma AndradeAinda não há avaliações
- Resenha Literária de "O Animal de Estimação e Outros Contos" de Raphael Gomes, Por Alyne Cristina Campos CruzeiroDocumento3 páginasResenha Literária de "O Animal de Estimação e Outros Contos" de Raphael Gomes, Por Alyne Cristina Campos CruzeiroAlyne CamposAinda não há avaliações
- 01 - Conceito de ProjetoDocumento24 páginas01 - Conceito de ProjetoJonis Silva NevesAinda não há avaliações