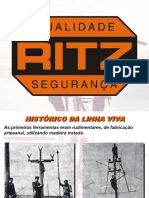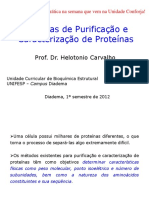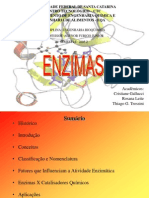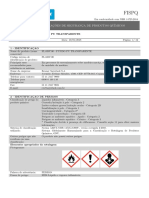Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
LUIS ALFREDO Livro Anatomia Humana Professor Hamilton
LUIS ALFREDO Livro Anatomia Humana Professor Hamilton
Enviado por
Junior SousaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
LUIS ALFREDO Livro Anatomia Humana Professor Hamilton
LUIS ALFREDO Livro Anatomia Humana Professor Hamilton
Enviado por
Junior SousaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Anatomia Humana
Anatomia Humana
Hamilton Emdio Duarte
Florianpolis, 2009.
Copyright 2009 Universidade Federal de Santa Catarina. Biologia/EaD/UFSC
Nenhuma parte deste material poder ser reproduzida, transmitida e gravada sem a
prvia autorizao, por escrito, da Universidade Federal de Santa Catarina.
Catalogao na fonte elaborada na DECTI da Biblioteca Universitria da
Universidade Federal de Santa Catarina.
D812a Duarte, Hamilton Emidio
Anatomia Humana / Hamilton E. Duarte. - Florianpolis : BIOLOGIA/
EAD/UFSC, 2009.
174 p.
ISBN 978-85-61485-14-6
1. Anatomia. 2. Corpo humano. 3. Sistemas orgnicos. I. Ttulo.
CDU: 611
Coordenao Pedaggica LANTEC/CED
Coordenao de Ambiente Virtual Alice Cybis Pereira
Comisso Editorial Viviane Mara Woehl, Alexandre
Verzani Nogueira, Milton Muniz
Projeto Grco Material impresso e on-line
Coordenao Prof. Haenz Gutierrez Quintana
Equipe Henrique Eduardo Carneiro da Cunha, Juliana
Chuan Lu, Las Barbosa, Ricardo Goulart Tredezini
Straioto
Equipe de Desenvolvimento de Materiais
Laboratrio de Novas Tecnologias - LANTEC/CED
Coordenao Geral Andrea Lapa
Coordenao Pedaggica Roseli Zen Cerny
Material Impresso e Hipermdia
Coordenao Laura Martins Rodrigues,
Thiago Rocha Oliveira
Adaptao do Projeto Grco Laura Martins Rodrigues,
Thiago Rocha Oliveira
Diagramao Laura Martins Rodrigues
Ilustraes Felipe Oliveira Gall
Reviso gramatical Isabel Maria Barreiros Luclktenberg
Design Instrucional
Coordenao Isabella Benca Barbosa
Design Instrucional Vanessa Gonzaga Nunes
Governo Federal
Presidente da Repblica Luiz Incio Lula da Silva
Ministro de Educao Fernando Haddad
Secretrio de Ensino a Distncia Carlos Eduardo
Bielschowky
Coordenador Nacional da Universidade Aberta do
Brasil Celso Costa
Universidade Federal de Santa Catarina
Reitor Alvaro Toubes Prata
Vice-Reitor Carlos Alberto Justo da Silva
Secretrio de Educao Distncia Ccero Barbosa
Pr-Reitora de Ensino de Graduao Yara Maria
Rauh Muller
Pr-Reitora de Pesquisa e Extenso Dbora Peres
Menezes
Pr-Reitora de Ps-Graduao Maria Lcia Camargo
Pr-Reitor de Desenvolvimento Humano e Social Luiz
Henrique Vieira da Silva
Pr-Reitor de Infra-Estrutura Joo Batista Furtuoso
Pr-Reitor de Assuntos Estudantis Cludio Jos Amante
Centro de Cincias da Educao Wilson Schmidt
Curso de Licenciatura em Cincias Biolgicas
na Modalidade a Distncia
Diretora Unidade de Ensino Sonia Gonalves Carobrez
Coordenadora de Curso Maria Mrcia Imenes Ishida
Coordenadora de Tutoria Zenilda Laurita Bouzon
Apresentao ....................................................................................... 9
1 Introduo ao Estudo da Anatomia ............................................. 13
1.1 Conceitos de Anatomia ............................................................................................15
1.2 Divises da Anatomia ...............................................................................................15
1.3 Nomenclatura Anatmica ...................................................................................... 16
1.4 Posio Anatmica ....................................................................................................17
1.5 Diviso do Corpo Humano ......................................................................................17
1.6 Planos e Eixos do Corpo Humano ......................................................................... 19
1.7 Termos de Posio e Direo das Estruturas do Corpo Humano .................. 20
1.8 Tipos Constitucionais Humanos............................................................................ 21
1.9 Princpios de Construo do Corpo Humano ..................................................... 22
1.10 Normalidade e Alteraes da Normalidade ..................................................... 24
Resumo .............................................................................................................................. 25
Referncias Bibliogrcas ............................................................................................. 26
2 Osteologia ....................................................................................... 29
2.1 Generalidades e Conceitos ..................................................................................... 31
2.2 Nmero de Ossos do Corpo Humano .................................................................. 31
2.3 Classicao dos Ossos ........................................................................................... 32
2.4 Arquitetura dos ossos .............................................................................................. 36
2.5 Tipos de Esqueleto ................................................................................................... 38
2.6 Classicao do Esqueleto ..................................................................................... 39
2.7 Funes do Esqueleto ............................................................................................. 39
Resumo .............................................................................................................................. 40
Referncias Bibliogrcas ............................................................................................. 40
Sumrio
3 Artrologia ........................................................................................ 43
3.1 Generalidades e Conceitos ..................................................................................... 45
3.2 Classicao das Articulaes ............................................................................... 45
3.3 Articulaes brosas................................................................................................ 46
3.4 Articulaes cartilagneas ...................................................................................... 47
3.5 Articulaes Sinoviais .............................................................................................. 48
Resumo .............................................................................................................................. 56
Referncias Bibliogrcas ............................................................................................. 56
4 Miologia .......................................................................................... 59
4.1 Generalidades e Conceitos ..................................................................................... 61
4.2 Classicao dos Msculos .................................................................................... 61
4.3 Msculo Estriado Esqueltico ............................................................................... 62
Resumo .............................................................................................................................. 69
Referncias Bibliogrcas ............................................................................................. 70
5 Sistema Nervoso ............................................................................ 73
5.1 Generalidades e Conceitos ..................................................................................... 75
5.2 Diviso do Sistema Nervoso .................................................................................. 75
5.3 Sistema Nervoso Central ........................................................................................ 76
5.4 Sistema Nervoso Perifrico .................................................................................... 84
5.5 Sistema Nervoso Visceral ........................................................................................ 87
Resumo .............................................................................................................................. 89
Referncias Bibliogrcas ............................................................................................. 90
6 Sistema Circulatrio ....................................................................... 93
6.1 Generalidades e Conceitos ..................................................................................... 95
6.2 Diviso do Sistema Circulatrio ............................................................................ 95
6.3 Sistema Cardiovascular ........................................................................................... 96
6.4 Vasos Sangneos ................................................................................................... 106
6.5 Sistema Linftico .................................................................................................... 107
6.6 rgos Hemopoiticos ......................................................................................... 109
Resumo .............................................................................................................................111
Referncias Bibliogrcas ............................................................................................111
7 Sistema Digestrio .......................................................................115
7.1 Generalidades, Conceitos e Diviso .....................................................................117
7.2 Tubo Digestrio ........................................................................................................118
7.3 Glndulas Anexas ................................................................................................... 125
7.4 Peritnio .................................................................................................................... 129
Resumo ............................................................................................................................ 129
Referncias Bibliogrcas ........................................................................................... 130
8 Sistema Respiratrio ....................................................................133
8.1 Generalidades e Conceitos ................................................................................... 135
8.2 Poro Condutora .................................................................................................. 136
8.3 Poro Respiratria ................................................................................................ 142
8.4 Mecnica Respiratria ........................................................................................... 143
Resumo ............................................................................................................................ 145
Referncias Bibliogrcas ........................................................................................... 145
9 Sistema Urinrio ...........................................................................149
9.1 Generalidades e Conceitos ................................................................................... 151
9.2 Rim ............................................................................................................................. 151
9.3 Ureter ........................................................................................................................ 154
9.4 Bexiga Urinria ........................................................................................................ 154
9.5 Uretra ........................................................................................................................ 156
Resumo ............................................................................................................................ 157
Referncias Bibliogrcas ........................................................................................... 158
10 Sistema Genital ..........................................................................161
10.1 Generalidades e Conceitos ................................................................................. 163
10.2 Sistema Genital Masculino ................................................................................. 163
10.3 Sistema Genital Feminino .................................................................................. 168
Resumo ............................................................................................................................ 173
Referncias Bibliogrcas ........................................................................................... 173
Este livro de Anatomia Humana destina-se aos estudantes do curso da
rea de Cincias Biolgicas como uma ferramenta de aprendizado e ao mes-
mo tempo fornecer uma melhor compreenso da morfologia dos rgos e dos
sistemas que constituem o corpo humano.
Acreditamos que esta disciplina fundamental para a qualicao do aca-
dmico de Biologia, pois apresenta um contedo bsico que, integrado aos
contedos das demais disciplinas do curso, servir de alicerce para a formao
prossional.
Neste livro, as guras foram didaticamente desenhadas e ricamente legen-
dadas, ilustrando bem os aspectos morfolgicos de cada sistema que devem
ser comparados com o contedo prtico de laboratrio a m de completar o
aprendizado.
Procuramos expor os sistemas orgnicos de maneira compreensvel, dis-
pensando os detalhes, sem que ferisse a qualidade do contedo de Anatomia.
Desta forma, ao descrever os vrios assuntos, procuramos empregar uma lin-
guagem acessvel e prtica.
No primeiro captulo de Introduo ao estudo da Anatomia, esto os con-
ceitos necessrios para o entendimento dos demais captulos, tais como di-
viso do corpo humano por segmentos e sistemas, tipos constitucionais dos
indivduos, termos de posio e localizao dos rgos, normalidade e altera-
es da normalidade.
Nos Captulos 2, 3 e 4 ser abordado o aparelho locomotor. Nele identi-
caremos os ossos do corpo humano, as principais conexes existentes en-
tre eles e os msculos estriados esquelticos que permitem a realizao dos
movimentos.
Apresentao
No Captulo 5 estudaremos o Sistema Nervoso. Descries da morfologia
do sistema nervoso central, perifrico e sistema nervoso autnomo so abor-
dadas. O Captulo 6 trata do Sistema Circulatrio. Denio de corao, forma,
localizao, estrutura, cavidades, vascularizao, drenagem venosa, vasos da
base e sistema excitocondutor do corao sero estudados. Alm disso, sero
identicados os rgos hematopoiticos e os principais vasos sangneos do
corpo humano.
Os Captulos 7 e 8 so dedicados aos sistemas digestrio e respiratrio,
respectivamente. Conceitos, descries e morfologia dos dois sistemas sero
estudados.
Nos Captulos 9 e 10 descreveremos o aparelho urogenital. Dedicaremos
esse captulo ao estudo da anatomia macroscpica das estruturas que consti-
tuem o Sistema Urinrio e os sistemas genitais masculino e feminino, respon-
sveis pela perpetuao das espcies.
Este material foi pensado para que voc tenha um entendimento dessa en-
genharia que o nosso corpo. Acreditamos que este o momento ideal para
que voc conhea e reita sobre o funcionamento do seu prprio corpo. Sinta-
se convidado a adentrar nesse mundo fantstico que a Anatomia Humana.
Hamilton Emdio Duarte
C
A
P
T
U
L
O
1
C
A
P
T
U
L
O
1
Introduo ao Estudo da
Anatomia
Voc j pensou sobre a sua estruturao fsica, ou seja, so-
bre a sua anatomia? Sobre a sua simetria ou sobre a sua ca-
pacidade de andar ou respirar? Este captulo lhe habilitar a
conceituar anatomia e suas subdivises. Voc ser capaz de
descrever a posio anatmica e a diviso do corpo humano
por sistemas e regies; os planos e o eixo do corpo huma-
no e a localizao dos rgos, usando os termos de posio
e direo das estruturas do corpo humano. Voc ir ainda
conhecer os tipos constitucionais dos indivduos e citar suas
caractersticas morfolgicas e os princpios de construo do
corpo humano, e poder conceituar normalidade e altera-
es da normalidade.
15 Introduo ao Estudo da Anatomia
1.1 Conceitos de Anatomia
O termo anatomia deriva do grego Ana, que signifca em
partes, e Tomein, que signifca cortar. Ento, anatomia signifca
cortar separando em partes. Podemos ainda ampliar esse conceito
dizendo que a Anatomia a parte da cincia que estuda a forma e
a estrutura do corpo humano.
1.2 Divises da Anatomia
A disciplina de Anatomia Humana pode ser dividida em vrias
partes de acordo com os seguintes critrios:
1.2.1 Segundo o mtodo de observao
Neste caso, leva-se em considerao a maneira com que se ob-
serva a estrutura que vai ser estudada. Se voc necessita de um
microscpio para aumentar as dimenses das estruturas para uma
melhor visualizao, chamamos de anatomia microscpica; se
voc consegue observar as estruturas sem o uso de aparelho, ento
elas so vistas a olho nu, denominamos de anatomia macrosc-
pica; e se voc utiliza lentes de aumento para ampliar as estru-
turas, por exemplo, uma lupa, ento denominamos de anatomia
mesoscpica.
16 Introduo ao Estudo da Anatomia
1.2.2 Segundo o mtodo de estudo
Neste caso, leva-se em considerao o estudo do corpo humano
mediante a diviso por sistemas orgnicos (anatomia sistmica
ou descritiva), a diviso por segmentos ou regies (anatomia to-
pogrfca ou regional), o uso de imagem (anatomia radiolgica),
o estudo dos relevos e das depresses existentes na superfcie do
corpo humano (anatomia de superfcie), os cortes seriados (ana-
tomia seccional) e as comparaes com a morfologia de outros
animais (anatomia comparada).
1.3 Nomenclatura Anatmica
No fnal do sculo XX (sobretudo na Europa), havia muitas de-
nominaes para descrever uma mesma estrutura, ento, houve
a necessidade de uniformizar os termos anatmicos. A primeira
tentativa de uniformizao dos termos anatmicos ocorreu em
1895 na Basilia, conhecida com a sigla de BNA (Basle Nomina
Anatomica). A partir dessa data, sucessivas reunies foram feitas
em congressos internacionais, mas a sua uniformizao interna-
cional foi realizada em 1955, no Congresso de Anatomia em Pa-
ris, e adotada a nomenclatura que fcou conhecida por PNA (Paris
Nomina Anatomica). A cada cinco anos novas revises da nomen-
clatura anatmica so feitas em congressos de Anatomia. Portanto,
ao conjunto de termos empregados para descrever todo o organis-
mo, ou em partes, bem como as estruturas que compem o corpo
humano, deu-se o nome de Nomenclatura anatmica.
Princpios gerais
Ento, para se criar um novo termo anatmico, alguns princ-
pios foram seguidos: (1) a lngua ofcial passou a ser o latim; (2)
aboliram-se os epnimos; (3) os termos anatmicos deveriam in-
dicar a forma, a posio e a situao da estrutura, como, por exem-
plo, m. quadrado femoral e m. fexor profundo dos dedos da mo;
(4) abreviatura dos termos usuais: (a) artria, (v) veia, (n) nervo; e
(5) traduo para o vernculo do pas, como, por exemplo, fexor
digitorum sublimis, m. fexor superfcial dos dedos.
Se voc tiver interesse,
consulte o livro Terminologia
anatmica internacional, da
editora Manole, de 2001. Ele
o fundamento da terminologia
mdica, dada a importncia
que todos os prossionais da
rea da sade usem a mesma
denominao para cada
estrutura.
Epnimo
a denominao de uma
estrutura pelo nome de
uma pessoa, por exemplo,
Trompa de Falpio, nome
dado em homenagem ao seu
descobridor, o anatomista
italiano do sculo XVI
Gabriele Falloppio.
17 Introduo ao Estudo da Anatomia
1.4 Posio Anatmica
A Figura 1.1 mostra a posio anatmica adotada em todo o
mundo com o objetivo de facilitar a descrio das estruturas que
compem o corpo humano.
Figura 1.1 - Posio anatmica
Observe que a posio anatmica se assemelha posio da
educao fsica: o indivduo na posio ortosttica (em p), olhan-
do para o horizonte, com os membros inferiores e calcanhares
unidos, com os membros superiores juntos ao tronco e as palmas
das mos voltadas para frente.
1.5 Diviso do Corpo Humano
Podemos dividir o corpo humano por segmentos ou por siste-
mas orgnicos. Os segmentos (veja a Figura 1.2) compreendem a
18 Introduo ao Estudo da Anatomia
cabea, o pescoo, o tronco e os membros. A cabea corresponde
parte superior do corpo, presa ao tronco pelo pescoo. O tronco
est constitudo pelo trax, pelo abdome e pela pelve. Dos mem-
bros, dois so superiores e dois inferiores. Cada membro possui
uma raiz (que se prende ao tronco) e uma parte livre, como mostra
a fgura a seguir.
Cabea
Membros
superiores
Membros
inferiores
Pescoo
Tronco
Abdome
Pelve
Trax
Figura 1.2 - A gura mostra a diviso do corpo humano por segmentos
Uma outra maneira de dividir o corpo humano por interm-
dio dos sistemas orgnicos, como veremos a seguir: O sistema
tegumentar constitudo de pele, tela subcutnea e seus anexos,
o aparelho locomotor formado pelos sistemas sseo, muscular
e articular. O sistema circulatrio compreende o sistema cardio-
vascular, linftico e pelos rgos hemopoiticos. O tubo digestrio
e as glndulas anexas fazem parte do sistema digestrio. Temos
ainda o sistema respiratrio, o sistema endcrino e o aparelho
urogenital, formado pelo sistema urinrio, pelo sistema genital
masculino e pelo sistema genital feminino.
19 Introduo ao Estudo da Anatomia
1.6 Planos e Eixos do Corpo Humano
Agora que j conhecemos a posio anatmica, podemos
delimitar o corpo humano por meio dos planos de delimita-
o, os quais passam tangenciando a sua superfcie.
1.6.1 Planos de delimitao
Imaginemos um indivduo dentro de uma caixa retangu-
lar, conforme mostra a Figura 1.3. Observe que a caixa possui
quatro planos verticais e dois planos horizontais que tangen-
ciam a superfcie do corpo. Dentre os planos verticais, o plano
ventral ou anterior passa paralelamente ao abdome (lado da
frente da caixa), o plano dorsal ou posterior passa paralela-
mente ao dorso (lado de trs da caixa) e os planos laterais
direto e esquerdo (lado direito e lado esquerdo da caixa) pas-
sam paralelamente de cada lado do corpo. Para fecharmos a
caixa, faltam os planos horizontais. O plano ceflico, cranial
ou superior tangencia a cabea (fecha a caixa em cima) e o
plano podlico ou inferior passa junto planta dos ps (fecha
a caixa em baixo).
1.6.2 Eixos
Agora vamos traar eixos imaginrios que vo unir os
centros dos planos de delimitao opostos, considerando,
ainda, o indivduo dentro da caixa retangular. Vejam que
os eixos principais seguem trs direes diferentes, confor-
me visto na Figura 1.4.
O eixo longitudinal ou crnio-podlico une o centro do
plano superior ao centro do plano inferior.
O eixo sagital ou ntero-posterior une o centro do plano
dorsal ao centro do plano ventral.
O eixo transversal ou laterolateral une o centro do plano
lateral direito ao centro do plano lateral esquerdo.
Figura 1.3 - Indivduo na posio
anatmica dentro da caixa retangular
Figura 1.4 - Distribuio dos trs
eixos do corpo humano
Eixo
longitudinal
Eixo
transversal
Eixo sagital
20 Introduo ao Estudo da Anatomia
1.6.3 Planos de seco
O termo seco signifca cortar. Portanto, os planos de seco
so planos que dividem (cortam) o corpo do indivduo em partes
menores. A Figura 1.5 ilustra os quatro planos de seco funda-
mental do corpo humano.
O plano mediano um plano vertical que divi-
de o corpo do indivduo em duas metades, apa-
rentemente semelhantes (direita e esquerda).
Os planos sagitais so aqueles planos de sec-
o do corpo feitos paralelamente ao plano
mediano.
O plano frontal ou coronal so todas aquelas
seces paralelas aos planos ventral ou dorsal
que dividem o corpo do indivduo em duas
partes: uma anterior (ventral) e a outra poste-
rior (dorsal).
O plano transversal so todas aquelas seces
paralelas aos planos superior ou inferior. Este
plano de seco divide o corpo do indivduo
em duas partes: superior e inferior.
1.7 Termos de Posio e Direo das Estruturas
do Corpo Humano
Utilizamos termos de posio e direo para identifcao e
localizao dos rgos situados no corpo humano. A Figura 1.6
representa um corte transversal na altura do trax. A linha XY est
situada no plano mediano. Estruturas que esto no plano mediano
so ditas medianas. o caso da estrutura A, que est localizada no
plano mediano. Veja agora as estruturas B, C e D. A estrutura B
chamada de medial porque fca mais prxima do plano mediano
em relao a C ou D. A estrutura D est mais prxima do plano la-
teral em relao a C e B, por isso, chamada de lateral. A estrutura
intermdia, estrutura C, aquela que fca sempre entre uma estru-
tura medial e a outra lateral. A estrutura E ventral ou anterior
Figura 1.5 - Ilustrao dos planos
de seco do corpo humano
Plano
mediano
Plano
sagital
Plano
frontal
Plano
transversal
21 Introduo ao Estudo da Anatomia
porque fca mais prxima do plano ventral ou anterior. A estrutura
G dorsal ou posterior e fca mais prxima do plano dorsal em
relao estrutura E e F. A estrutura mdia est representada pela
letra F, que, por sua vez, aquela que fca sempre entre duas outras
estruturas uma dorsal e outra ventral ou entre uma proximal e
outra distal, entre uma superior e outra inferior, entre uma interna
e outra externa ou ainda entre uma superfcial e outra profunda.
A (vrtebra)
Interno
Externo
B
X
Y
G
F
E
C
D
A (corao)
A (esterno)
Figura 1.6 - Corte transversal do trax mostrando a disposio e a localizao das
estruturas no corpo humano
Outros termos de posio e direo so tambm aplicados ao
corpo humano. Vejam os termos proximal, que signifca mais pr-
ximo da raiz do membro, e distal, que signifca mais afastado da
raiz do membro. Enquanto os termos externo e interno utilizam-
se para estruturas situadas dentro das cavidades do corpo, e os
termos superfcial e profundo so mais empregados para se iden-
tifcar a disposio das camadas.
1.8 Tipos Constitucionais Humanos
Se voc observar os seus colegas da turma, vai verifcar que eles
apresentam caractersticas constitucionais diferentes. A morfolo-
gia de cada indivduo depende exclusivamente das caractersticas
genticas somadas infuncia do meio ambiente.
22 Introduo ao Estudo da Anatomia
A Figura 1.7 representa os trs tipos constitucionais de indiv-
duos. Portanto, aquele indivduo que apresenta estatura alta, tron-
co alongado e membros longos em relao ao tronco chamado
de longilneo. O indivduo que possui estatura baixa, pescoo e
membros curtos em relao ao tronco denominado de brevi-
lneo. J o mediolneo aquele indivduo que possui dimenses
intermedirias entre o longilneo e o brevilneo.
Brevilneo Mediolneo Longilneo
Figura 1.7 - Caractersticas constitucionais dos indivduos
1.9 Princpios de Construo do Corpo Humano
O corpo humano, na vida embrionria, organiza-se de maneira
complexa e medida que se desenvolve segue alguns princpios
bsicos de construo para a formao do corpo humano. Os qua-
tros princpios que atuam na construo do corpo so: a antime-
ria, a paquimeria, a metameria e a estratimeria.
23 Introduo ao Estudo da Anatomia
Na antimeria (veja a Figura 1.8) o corpo humano formado a
partir de duas metades homlogas (semelhantes), uma direita e
outra esquerda, cada uma chamada de antmero. Os antmeros
possuem simetria bilateral. Por isso, os rgos pares se encon-
tram distribudos em cada antmero e os mpares tendem a se
situar no plano mediano.
Na paquimeria (veja a Figura 1.9) o corpo se forma a partir
de dois tubos chamados de paqumeros. O tubo dorsal (pa-
qumero neural) a cavidade que fica dentro do crnio e do
canal vertebral. Esse paqumero contm o encfalo e a medula
espinhal (neuroeixo), e o tubo ventral (paqumero visceral)
contm as vsceras torcicas, abdominais e plvicas.
Plano mediano
Antmero
direito
Antmero
esquerdo
Paqumero neural
Paqumero
visceral
Figura 1.8 - Antimeria Figura 1.9 - Paquimeria
24 Introduo ao Estudo da Anatomia
Na metameria (veja a Figura 1.10) o corpo se forma a partir
da superposio de segmentos semelhantes entre si. Os seg-
mentos so delimitados por planos transversais e chamados de
metmeros, cuja disposio lembra uma pilha de moedas. Esse
princpio de construo do corpo encontramos na coluna ver-
tebral, nas costelas e nos msculos intercostais.
Na estratimeria (veja a Figura 1.11) o corpo se forma a partir
de estruturas dispostas em estratos ou camadas. Essas disposi-
es encontramos na pele, na tela subcutnea e nas camadas da
parede das vsceras ocas.
Pele
Tela subcutnea
Osso
Msculos
Figura 1.11 - Estratimeria
1.10 Normalidade e Alteraes da Normalidade
Podemos conceituar o termo normal levando-se em conside-
rao os critrios funcional e estatstico. Do ponto de vista funcio-
nal o normal a estrutura que melhor desempenha uma funo.
Por exemplo, o normal o indivduo sadio ou com sade. J do
ponto de vista estatstico, o normal, em um grupo, o aspecto que
se encontra na maioria dos casos, isto , com maior freqncia.
Por outro lado, a simples observao de um grupo humano mos-
tra de imediato diferenas morfolgicas entre os elementos que
constituem o grupo. Essas diferenas morfolgicas so chamadas
de variaes anatmicas. Na variao anatmica, a qual pode ser
interna ou externa, o indivduo apresenta alteraes da normali-
Figura 1.10 - Metameria
25 Introduo ao Estudo da Anatomia
dade sem prejuzo funcional, isto , o indivduo pode realizar qual-
quer atividade sem que a diferena morfolgica interfra na ao
desejada. Por exemplo, a bifurcao da artria braquial acima da
articulao do cotovelo representa uma variao anatmica, tendo
em vista que normalmente ela se divide na altura do cotovelo. O
fato de essa artria se bifurcar acima do cotovelo no traz nenhum
prejuzo funcional para o indivduo.
Na anomalia o indivduo apresenta grandes variaes anat-
micas com prejuzo funcional, por exemplo, a ausncia do dedo
polegar, que impede a realizao do movimento de pina entre
os dedos. J na monstruosidade o indivduo apresenta anomalia
acentuada a ponto de interferir no princpio de construo do cor-
po, geralmente, incompatvel com a vida. Um exemplo de mons-
truosidade a ausncia do encfalo conhecido anencefalia.
Resumo
A Anatomia estuda as estruturas do corpo humano em geral.
Divide-se a Anatomia de acordo com o mtodo de observao em:
anatomia microscpica, anatomia mesoscpica e anatomia ma-
croscpica. E de acordo com o mtodo de estudo dividida em:
anatomia sistmica, anatomia topogrfca, anatomia radiolgi-
ca e anatomia comparada.
Utilizam-se a nomenclatura anatmica e os termos de posio
e direo para denominar e localizar as estruturas que compem
o corpo humano.
Uma posio padro conhecida como posio anatmica
adotada para delimitar os planos e os eixos do corpo a fm de faci-
litar o profssional da rea da sade no processo de avaliao fsica
do indivduo.
O tipo constitucional do indivduo conhecido com o bitipo
existe em todos os grupos raciais: o longilneo, que possui tronco
e membros longos, o brevilneo, que apresenta tronco, pescoo e
membros curtos; e o mediolneo, cujo indivduo apresenta carac-
tersticas intermediarias entre os dois tipos anteriores.
A anencefalia consiste em
malformao rara do tubo
neural acontecida entre o
16 e o 26 dia de gestao,
caracterizada pela ausncia
total ou parcial do encfalo
e da calota craniana,
proveniente de defeito
de fechamento do tubo
neural durante a formao
embrionria.
26 Introduo ao Estudo da Anatomia
Levando-se em considerao que num grupo todos os indiv-
duos so sadios, podemos, ento, afrmar do ponto de vista ana-
tmico que todos os indivduos desse grupo so normais. Mas,
por outro lado, o fato de existir pessoas gordas ou magras, baixas
ou altas nesse grupo signifca que existem variaes anatmicas
entre elas. Caso um indivduo apresenta a falta de um rgo, isto
signifca que ele apresenta uma anomalia. E se essa anomalia for
acentuada a ponto de interferir no princpio de construo do cor-
po, dizemos que ele apresenta uma monstruosidade.
Referncias Bibliogrcas
1) Livro Texto
CASTRO, S. V. Anatomia fundamental. 3. ed. So Paulo: Makron
Books, 1985.
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Sistmi-
ca e Segmentar: para o estudante de Medicina. 2. ed. So Paulo:
Atheneu, 1998.
MCMINN, R. M. H.; HUTCHINGS, R. T.; LOGAN, B. M. Com-
pndio de Anatomia Humana. So Paulo: Manole, 2000.
MORRE, K. L.; DALLEY, A. R. Anatomia: orientada para a clni-
ca. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2001.
SPENCE, A. P. Anatomia Humana Bsica. 2. ed. So Paulo: Ma-
nole, 1991.
2) Livro Atlas
KHALE, W.; LEONHARDT, H.; PLATZER, W. Atlas de Anato-
mia Humana. So Paulo: Livraria Atheneu, 1998. v. 1-2.
NETTER, H. F. Atlas de Anatomia Humana. 8. ed. Porto Alegre:
Artes Mdicas, 1966. v. 1,
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 20. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1995. v. I e II.
C
A
P
T
U
L
O
2
C
A
P
T
U
L
O
2
Osteologia
O esqueleto tem a importante funo de sustentar e dar
forma ao corpo. Ele torna possvel a locomoo e protege os
rgos internos. Nesta etapa voc entrar em contato com os
conceitos referentes a ossos e esqueleto e assim poder classi-
fcar e descrever os ossos quanto sua forma: seus acidentes,
sua vascularizao, sua arquitetura e seu revestimento. Ser
capaz de identifcar e classifcar os tipos de esqueleto, bem
como descrever suas funes. E conhecer mais especifca-
mente os ossos do esqueleto axial e apendicular.
31 Osteologia
2.1 Generalidades e Conceitos
O sistema esqueltico forma um arcabouo sseo importante na
proteo das vsceras, na conformao e na sustentao do corpo,
no sistema de alavancas biolgicas, na produo de clulas sang-
neas, alm de ser o depsito de ons Ca e P.
O termo osteologia deriva do grego osteon, que signifca
osso, e Logus, que signifca estudo. Ento, podemos dizer que
Osteologia a parte da Anatomia que estuda os ossos. Por outro
lado, os ossos so estruturas rgidas, esbranquiadas, constitudas
de tecido conjuntivo mineralizado e que reunidas entre si partici-
pam na formao do esqueleto. Portanto, ao conjunto de ossos e
cartilagens que reunidos entre si do conformao ao corpo, pro-
teo e sustentao de partes moles damos o nome de esqueleto
(veja a Figura 2.1).
2.2 Nmero de Ossos do Corpo Humano
O nosso corpo possui 206 ossos, mas esse nmero pode variar
levando-se em considerao dois fatores. O primeiro critrio o
fator etrio, em que o indivduo pode apresentar ossos que no se
fundem, permanecendo separados na vida adulta. Por exemplo, o
osso frontal pode permanecer separado por uma sutura na vida
adulta. O segundo fator o critrio de contagem, neste caso, o
anatomista pode ou no considerar alguns ossculos como parte
32 Osteologia
da constituio do esqueleto. O exemplo mais comum so os oss-
culos da orelha mdia (ouvido), que para alguns anatomistas so
considerados e para outros no so computados durante a conta-
gem dos ossos do corpo.
2.3 Classicao dos Ossos
Segundo a localizao topogrfca dos ossos, podemos classif-
c-los em ossos axiais e apendiculares. Os ossos axiais so aque-
Crnio
Clavcula
Escpula
Esterno
mero
Costelas
Ulna
Rdio
Osso do quadril
Carpo
Snse pbica
Fmur
Tbia
Fbula
Tarso
Metatarsais
Falanges
Cccix
Sacro
Coluna vertebral
Cartilagem costal
Metacarpais
Falanges
Patela
Figura 2.1 - Esqueleto humano
33 Osteologia
les que formam o eixo principal do corpo, o caso dos ossos da
cabea, do pescoo e do tronco, enquanto que os ossos apendicu-
lares formam os apndices do corpo, isto , esto localizados nos
membros superiores e nos membros inferiores.
A classifcao que faremos a seguir leva em considerao a for-
ma (morfologia) dos ossos pelo fato de eles apresentarem carac-
tersticas morfolgicas diferentes. Por isso, eles so classifcados
quanto sua forma em: longos, alongados, planos, irregulares e
curtos. Existem ainda alguns ossos que, por suas caractersticas
funcionais, podem ser classifcados parte. o caso dos ossos
pneumticos e os sesamides.
A) Ossos longos
So aqueles ossos em que o comprimento maior do que a lar-
gura e a espessura, alm disso, eles apresentam como caracterstica
principal a presena de canal medular. Outras caractersticas que
encontramos nos ossos longos (veja a Figura 2.2) so a presen-
a de um corpo (difse), de duas extremidades (epfse distal e
proximal), de uma regio de transio entre as epfses e a difse
(metfse distal e proximal) e de uma cavidade na difse que aloja
a medula ssea (canal medular). Esses ossos esto situados nos
membros superiores e inferiores como o mero, o rdio, o fmur
e a tbia etc.
Na metse ca o disco
episial de constituio
brocartilaginosa responsvel
pelo crescimento do osso no
seu comprimento
Canal
Medular
Epse
Proximal
Epse
Distal
Metse
Proximal
Metse
Distal
Dise
(Corpo)
Figura 2.2 - Representao
esquemtica do osso longo
34 Osteologia
B) Ossos alongados
So aqueles ossos em que o comprimento predomina sobre a
largura e a espessura, s que esse tipo de osso no possui canal
medular. Esses ossos so representados pelas costelas e pelas clav-
culas, conforme ilustra a Figura 2.3.
C) Ossos planos ou laminares
So aqueles ossos cujo comprimento e largura predo-
minam sobre a espessura. Esses ossos esto localizados
principalmente na calota craniana, como o caso do osso
parietal, e nas razes dos membros superiores e inferiores,
como o caso do osso da escpula e o osso do quadril,
respectivamente (veja a Figura 2.4).
D) Ossos curtos
So aqueles ossos em que o comprimento, a largura e a espes-
sura se equivalem. A Figura 2.5 a seguir mostra exemplos desses
ossos distribudos principalmente na mo e no p.
Figura 2.5 - Exemplos de ossos curtos
Figura 2.3 - Representao esquemtica de osso alongado
Figura 2.4 - A gura mostra o desenho de
um osso plano
Tlus
Calcneo
Cubide
Navicular
Cuneiformes
Vista Lateral
35 Osteologia
F) Ossos irregulares
So ossos que apresentam uma forma diferente de qualquer f-
gura geomtrica conhecida. Ossos localizados na coluna vertebral
(vrtebras) e na cabea (mandbula) so exemplos que caracteri-
zam os ossos irregulares (veja a Figura 2.6).
G) Ossos pneumticos
So aqueles ossos que apresentam uma cavidade interna con-
tendo ar. Essa cavidade revestida de mucosa e denominada de
seio. Encontramos esses ossos situados adjacentes cavidade na-
sal. o caso dos ossos: frontal, maxila, etmide e esfenide, todos
localizados no crnio e na face, conforme visto na Figura 2.7.
H) Ossos sesamides
So pequenos ossos que se desenvolvem dentro de tendes ou
da cpsula articular. Ossos que se desenvolvem na substncia dos
tendes so denominados de intratendneos, e os que se desen-
volvem na substncia da cpsula articular so chamados periar-
ticulares. A patela (veja a Figura 2.8) um exemplo especfco de
osso sesamide intratendneo. O p e a mo so os locais mais
comuns onde se encontram ossos sesamides periarticulares.
Figura 2.6 - Desenho esquemtico de osso irregular Figura 2.7 - Ossos pneumticos
situados em torno da face
Sinusite o processo
inamatrio localizado
no interior dos ossos
pneumticos.
Figura 2.8 - Patela osso
sesamide do joelho.
36 Osteologia
2.4 Arquitetura dos Ossos
Ao apalpar o cotovelo ou o seu crnio, voc observa que est
tocando numa estrutura extremamente dura. Essas estruturas
rgidas so os ossos que apresentam na sua arquitetura as tra-
bculas sseas, cuja disposio varia no prprio osso.
Portanto, encontram-se nos ossos dois tipos de substncia
ssea (veja a Figura 2.9), a substncia ssea compacta e a subs-
tncia ssea esponjosa. A substncia ssea compacta mais re-
sistente, e as trabculas sseas esto frmemente aderidas umas
s outras. Encontra-se esse tipo de substncia ssea compacta
principalmente na parte externa dos ossos. J a substncia s-
sea esponjosa mais elstica, e as trabculas sseas esto mais
afastadas entre si, dando um aspecto de rede. Encontra-se esse
tipo de substncia ssea esponjosa nas extremidades dos ossos
longos e na parte interna dos ossos de uma forma geral.
2.4.1 Peristeo
Se voc j fraturou um osso, com certeza vai se lembrar da dor
que sofreu naquele momento. A dor causada no decorrente do
osso fraturado, mas sim da
leso ou da distenso que so-
freu o peristeo. O peristeo
(veja a Figura 2.10) a mem-
brana de tecido conjuntivo
fbroso que envolve externa-
mente o osso, exceto nas suas
superfcies articulares. Ele
possui uma camada fbrosa
mais externa e uma cama-
da osteognica mais interna,
responsvel pelo crescimen-
to sseo em espessura e pela
formao do calo sseo na re-
composio das fraturas (veja
a Figura 2.10).
Substncia ssea
Esponjosa
Substncia ssea
Compacta
Medula ssea
Vermelha
Figura 2.9 - A gura mostra a
substncia ssea compacta e
esponjosa dos ossos
Peristeo
Osso
compacto
Endsteo
Osso
esponjoso
Canal
medular
Figura 2.10 - Representao esquemtica do peristeo revestindo o osso
37 Osteologia
Dentro dos ossos, encontramos uma camada celular de tecido
conjuntivo revestindo internamente o canal medular, chamada de
endsteo. Essa camada tambm osteognica, isto , produz teci-
do sseo responsvel pelo crescimento da espessura do osso.
2.4.2 Medula ssea
O sangue que corre dentro dos vasos sangneos (artria e veia)
produzido no interior dos ossos. Essa substncia que produz sangue
chamada de medula ssea, conforme mostra a Figura 2.9. Ela est
situada dentro do canal medular e da substncia ssea esponjosa
dos ossos. Possumos dois tipos de medula ssea: medula ssea ru-
bra ou vermelha, que produz hemceas, plaquetas e granulcitos,
e a medula ssea fava ou amarela, que gordurosa (tutano), em
alguns ossos, ela substitui a medula vermelha ao longo do tempo.
2.4.3 Outras caractersticas dos ossos
A dureza e a resistncia dos ossos so decorrentes de substn-
cias minerais que fcam depositadas neles. Por outro lado, o osso
apresenta elasticidade devido presena de sustncias orgnicas
na sua composio. Ele pode sofrer eroso: osteoporose, decor-
rente da retirada de sais minerais pelo prprio organismo. A colo-
rao dos ossos geralmente esbranquiada, mas pode variar de
um indivduo para outro.
2.4.4 Elementos descritivos dos ossos
Quando estudamos a classifcao dos ossos quanto sua for-
ma, observamos que eles apresentam caractersticas morfolgicas
diferentes entre si, isto , eles possuem:
salincias articulares (cabea, trclea e cndilos) e no arti-
culares (tubrculo, tuberosidade, trocanter e espinha...);
depresses articulares (cavidades e fveas...) e depresses no
articulares (fossa, impresso e sulco...); e
aberturas (forame, canal e meato...).
Esses relevos presentes nos ossos so os chamados Acidentes
sseos.
Osteoporose
Aumento da fragilidade
ssea resultante da gradual
reduo na taxa de formao
de osso, condio comum
nas pessoas idosas.
38 Osteologia
2.4.5 Vascularizao e inervao dos ossos
Os ossos, assim como quaisquer partes do corpo humano, ne-
cessitam de sangue para serem nutridos. Os ossos recebem o seu
suprimento arterial proveniente das artrias nutriciais que esto
no peristeo. Alm delas, as artrias metafsrias e epifsrias nu-
trem, tambm, as extremidades dos ossos.
A inervao dos ossos feita pelos nervos pe-
riostais. Eles possuem fbras que transmitem a
sensao de dor, acompanham os vasos sang-
neos e inervam os ossos. O peristeo sensvel
leso ou tenso, o que explica a dor aguda nas
fraturas sseas.
2.4.6 Drenagem venosa e linftica
dos ossos
Os resduos metablicos que no servem mais
aos ossos precisam ser eliminados. Os sistemas
venoso e linftico so os responsveis diretos
pela drenagem dos resduos metablicos dos os-
sos. As veias que drenam os ossos acompanham
as artrias, e recebem o mesmo nome.
2.5 Tipos de Esqueleto
Existem trs tipos de esqueleto de acordo
com a disposio do arcabouo de sustentao
do organismo:
o 1. exoesqueleto aquele tipo que apresenta
esqueleto externo que serve de base de sus-
tentao para as partes moles, como exemplo
temos os crustceos;
o 2. endoesqueleto aquele que possui esque-
leto interno revestido pelas partes moles, um
exemplo que acontece com o homem; e
Fratura ssea
Quebra de um osso ou uma
cartilagem.
Figura 2.11 - Mostra os trs tipos de esqueletos: (A)
exoesqueleto, (B) endoesqueleto e (C) esqueleto misto
A
B
C
39 Osteologia
o 3. esqueleto misto aquele que possui as duas caractersticas.
Os exemplos de esqueleto misto so encontrados nas tartaru-
gas e nos tatus (veja a Figura 2.11).
2.6 Classicao do Esqueleto
Distinguimos topografcamente o esqueleto em esqueleto axial
e esqueleto apendicular (veja a Figura 2.12). Os ossos da cabea,
do pescoo, da coluna vertebral, do esterno e das costelas fazem
parte do esqueleto axial, enquanto os ossos dos membros supe-
riores (clavcula, escpula, mero, rdio, ulna, ossos do carpo, me-
tacarpiais e falanges) e dos membros inferio-
res (quadril, fmur, patela, tbia, fbula, ossos
do tarso, metatarsiais e falanges) constituem
o esqueleto apendicular.
2.7 Funes do Esqueleto
O esqueleto possui funes muito impor-
tantes do ponto de vista mecnico e biolgico.
Entre elas podemos destacar as seguintes:
funes mecnicas : proteo e sustenta-
o das partes moles do corpo (sistema
nervoso central, corao e pulmes), con-
formao do corpo (d forma ao corpo) e
auxlio no sistema de alavancas biolgicas
para a realizao dos movimentos; e
funes biolgicas: o esqueleto respon-
svel pela produo de clulas sangneas
e nele ficam depositados os ons de clcio,
fsforo e zinco.
Figura 2.12 - Desenho esquemtico dos esqueletos axial e
apendicular
Esqueleto
Axial
Esqueleto
Apendicular
40 Osteologia
Resumo
A Osteologia a parte da Anatomia que estuda os ossos. O
corpo humano possui 206 ossos classifcados em ossos axiais e
apendiculares. Os ossos axiais localizam-se na cabea, no pescoo
e no tronco, e os ossos apendiculares localizam-se nos membros
superiores e inferiores. Quanto forma, os ossos so classifcados
em: longos, alongados, planos, curtos, irregulares, pneumticos
e sesamides.
O osso apresenta dois tipos de substncia ssea, a substncia
ssea compacta e a substncia ssea esponjosa. A compacta
a camada externa do osso, e a esponjosa a camada interna do
osso. Alm disso, o osso revestido externamente pelo peristeo e
internamente pelo endsteo.
Em adultos, as cavidades medulares de costelas, vrtebras, ester-
no e pelve contm medula ssea vermelha que funciona na forma-
o de hemceas, plaquetas e granulcitos. As cavidades medula-
res dos ossos longos dos adultos so preenchidas de medula ssea
amarela de constituio adiposa.
Existem trs tipos de esqueleto. O exoesqueleto um esquele-
to externo (crustceos), o endoesqueleto um esqueleto interno
(homem) e o esqueleto misto (tartaruga) localiza-se tanto interna
como externamente.
Referncias Bibliogrcas
1) Livro Texto
CASTRO, S. V. Anatomia fundamental. 3. ed. So Paulo: Makron
Books, 1985.
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Sistmi-
ca e Segmentar: para o estudante de Medicina. 2. ed. So Paulo:
Atheneu, 1998.
MCMINN, R. M. H.; HUTCHINGS, R. T.; LOGAN, B. M. Com-
pndio de Anatomia Humana. So Paulo: Manole, 2000.
41 Osteologia
SPENCE, A. P. Anatomia Humana Bsica. 2. ed. So Paulo: Ma-
nole, 1991.
2) Livro Atlas
KHALE, W.; LEONHARDT, H.; PLATZER, W. Atlas de Anato-
mia Humana. So Paulo: Livraria Atheneu, 1988. v. 1-2.
NETTER, H. F. Atlas de Anatomia Humana. 8. ed. Porto Alegre:
Artes Mdicas, 1966. , v. 1.
ROHEN, J. W.; YOKOCHI, C. Atlas fotogrfco de Anatomia Sis-
tema e Regional. So Paulo: Manole, 1989.
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 20. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1995. v. I-II.
C
A
P
T
U
L
O
3
C
A
P
T
U
L
O
3
Artrologia
Imagine um corpo humano ereto, porm imvel. Este ca-
ptulo trata das articulaes que proporcionam aos segmen-
tos do corpo movimentos amplos ou limitados. O estudo lhe
auxiliar a conceituar e a classifcar os tipos de articulaes,
bem como descrever e exemplifcar as articulaes fbrosas,
cartilaginosas, sinoviais, os elementos constantes e incons-
tantes, os movimentos, a forma das superfcies sseas articu-
lares e ainda os ligamentos do corpo humano.
45 Artrologia
3.1 Generalidades e Conceitos
Agora que conhecemos o sistema esqueltico, vamos verifcar
como os ossos unem-se (articulam-se) para constituir o esquele-
to. As articulaes podem ser mantidas por fxaes imveis, com
movimentos limitados ou com movimentos amplos. Essas unies
so classifcadas de acordo com a maior ou menor amplitude de
movimento e o tipo de tecido existente entre elas.
O termo artrologia deriva do grego arthron, que signifca
articulao ou juntura, e logus, que signifca ramo do conheci-
mento (estudo). Portanto, Artrologia a parte da Anatomia que
estuda as articulaes ou as junturas. Podemos defnir articula-
es como o meio de unio entre os ossos e as cartilagens que
constituem o esqueleto.
3.2 Classicao das Articulaes
As articulaes podem ser classifcadas de acordo com a consti-
tuio tecidual que faz a conexo entre os ossos ou as cartilagens.
As articulaes por continuidade, em que os ossos se unem por
um tecido conjuntivo fbroso, so denominadas de Articulaes
fbrosas. Aquelas em que os ossos se unem por um tecido cartila-
ginoso so ditas Articulaes cartilagneas, e aquelas, em que os
ossos esto justapostos, separados por uma fenda articular e en-
volvidos por uma cpsula articular, so chamadas de Articulaes
sinoviais. A Figura 3.1 mostra os trs tipos de articulaes.
46 Artrologia
Figura 3.1 - Tipos de articulaes: (A) articulao brosa;
(B) articulao cartilagnea; (C) articulao sinovial
3.3 Articulaes Fibrosas
Podemos classifcar as articulaes fbrosas em trs tipos
fundamentais de acordo com a unio que ocorre entre os os-
sos ou as cartilagens. Os trs tipos fundamentais so: sutu-
ras, sindesmoses e gonfoses.
3.3.1 Suturas
Encontramos as suturas principalmente entre os ossos do
crnio, em que a unio feita por tecido conjuntivo fbroso.
As suturas so classifcadas em planas se as margens de conta-
to entre os ossos so planas, um exemplo a unio que ocor-
re entre os ossos nasais (veja a Figura 3.2A). As suturas so
classifcadas em denteadas ou serreadas (veja a Figura 3.2B)
se as margens de contato dos ossos so em forma de dentes
de serra, como o caso da maioria das articulaes dos ossos
da cabea. E fnalmente se tm as suturas escamosas (veja a
Figura 3.2C) se a margens dos ossos so em forma de escama,
como ocorre entre com os ossos parietal e temporal.
3.3.2 Sindesmoses
Outro tipo de articulao fbrosa a sindesmose. Nela o
tecido interposto o conjuntivo fbroso, que faz a unio dos
A
B
C
(A) Sutura Plana
ex: sutura internasal
(B) Sutura Denteada
ex: sutura Interparietal
(C) Sutura Escamosa
ex: sutura parieto-temporal
Figura 3.2 - Exemplos de suturas: plana,
denteada e escamosa
47 Artrologia
ossos a distncia. Encontramos esse tipo de articulao entre os
corpos do rdio e da ulna e entre a tbia e a fbula, em que a unio
feita pela membrana interssea de constituio fbrosa (veja a
Figura 3.3).
3.3.3 Gonfoses
Temos, ainda, um terceiro tipo de juntura fbrosa chamada de
gonfose. Encontra-se esse tipo de articulao somente entre os
dentes e os alvolos dentrios da maxila e da mandbula. Os den-
tes esto fxados nos ossos por intermdio de tecido conjuntivo
fbroso (veja a Figura 3.4).
Figura 3.4 - Exemplo de articulao do tipo gonfose
3.4 Articulaes Cartilagneas
Neste tipo de articulao a unio (conexo) entre os ossos e feita
por cartilagem hialina ou fbrocartilagem. As articulaes cartila-
gneas apresentam pouca mobilidade e so de dois tipos: sincon-
droses e snfses.
3.4.1 Sincondroses
Nas sincondroses a unio entre os ossos ocorre por meio de
cartilagem hialina. Esse tipo de articulao pode ser intra-sseas
dentro de um mesmo osso (metfse dos ossos longos) ou in-
tersseas entre ossos diferentes (osso occipital e osso esfenide,
como mostra a Figura 3.5).
Membrana
interssea
Figura 3.3 - Mostra a sindesmose
entre os ossos rdio e ulna
48 Artrologia
Figura 3.5 - Representao esquemtica da
sincondrose esfenoccipital
3.4.2 Snses
Um outro tipo de articulao cartilagnea a snfse. Na snfse
a unio entre os ossos se faz por meio de tecido fbrocartilaginoso.
o que acontece na unio entre os corpos das vrtebras e tambm
na snfse pbica. Nesses locais o disco intervertebral e o disco in-
terpbico de constituio fbrocartilaginoso se interpem s vrte-
bras e aos ossos dos pbicos, respectivamente (veja a Figura 3.6).
3.5 Articulaes Sinoviais
Quando realizamos o movimento do brao, caminhamos ou
chutamos uma bola, estamos usando uma articulao do tipo si-
novial. As articulaes sinoviais so aquelas que apresentam gran-
de amplitude de movimento e se caracterizam pela presena de
Disco intervertebral
Figura 3.6 - Exemplo de articulao do tipo
snse mostrando o disco intervertebral
A hrnia de disco uma
doena que afeta o disco
intervertebral devido
protruso do ncleo pulposo
por meio do nulo broso.
Essa doena causa presso
nos nervos espinhais,
principalmente no nervo
isquitico (citico).
Articulao
esfenoccipital
49 Artrologia
uma cpsula articular responsvel pela unio entre os ossos. Nes-
se tipo de articulao, encontram-se elementos constantes e ele-
mentos inconstantes.
3.5.1 Elementos constantes e inconstantes das
junturas sinoviais
Os elementos constantes das articulaes sinoviais so aqueles
elementos que esto presentes em todas as articulaes sinoviais.
Eles so representados pelas seguintes formaes:
1. superfcies sseas articulares que correspondem s superf-
cies de contato entre os ossos;
2. cartilagens articulares de constituio hialina situada nas
extremidades dos ossos;
3. cpsula articular constituda de membrana fibrosa externa e
de membrana sinovial interna;
4. lquido sinovial produzido pela membrana sinovial; e
5. cavidade articular espao entre os ossos preenchido de l-
quido sinovial. O lquido sinovial composto de cido hialur-
nico lubrifica as articulaes a fim de evitar o atrito entre as
superfcies sseas (veja a Figura 3.7).
Superfcie articular
Lmina episal
Fmur
Membrana sinovial
Cpsula brosa
Cavidade articular
Cartilagem articular
Figura 3.7 - Mostra a representao esquemtica dos elementos constantes
das junturas sinoviais
Os elementos inconstantes esto presentes apenas em algu-
mas articulaes sinoviais. Eles so representados pelas seguintes
estruturas:
Artrite uma inamao
na cartilagem articular
causada por trauma, infeco
bacteriana, distrbios
metablicos e outras.
Luxao quando as
superfcies articulares dos
ossos so violentamente
deslocadas.
50 Artrologia
discos articulares 1. estruturas fibrocartilaginosas em for-
ma de disco que permitem que duas superfcies sseas dis-
cordantes possam articular entre si. Encontramos disco na
articulao entre o osso temporal e a mandbula (articulao
temporomandibular);
meniscos 2. estruturas fibrocartilaginosas em forma de meia-
lua (disco incompleto) que agem como amortecedores de peso
e permitem a estabilizao da articulao do joelho;
lbio articular 3. estrutura em forma de anel que amplia uma
das superfcies articulares (encontramos um lbio na escpula
da articulao escpulo-umeral e na articulao do quadril); e
ligamentos 4. estruturas em forma de fita modelada rica em
fibras colgenas e elsticas que ajudam na fixao dos ossos
articulados. Os ligamentos so de origens musculares ou cap-
sulares, podem se localizar na substncia da cpsula articular
(capsular), dentro da cpsula articular (intracapsular) ou por
fora da cpsula articular (extracapsular). Eles desempenham as
funes de coeso ou adeso, e frenam ou limitam os movi-
mentos articulares (veja a Figura 3.8).
Menisco
lateral
Menisco
medial
Ligamento cruzado
anterior
Ligamento cruzado
posterior
Ligamento
transverso
Figura 3.8 - Representao esquemtica do menisco e ligamentos da articulao
do joelho
51 Artrologia
3.5.2 Movimentos das articulaes sinoviais
Observe ento que as articulaes do ombro, do cotovelo, do
punho, do quadril, do joelho, do tornozelo, do p e da mo so
exemplos de articulaes sinoviais. Essas articulaes realizam
grandes movimentos e, ao mesmo tempo, esto em maior nmero
no corpo humano.
A Figura 3.9 ilustra os principais movimentos realizados pelas
articulaes sinoviais. Esses movimentos so de:
flexo quando os ossos articulados se aproximam, diminuin-
do o ngulo da articulao;
extenso quando os ossos articulados se afastam, aumentan-
do o ngulo da articulao;
aduo quando os membros superiores ou inferiores se apro-
ximam do plano mediano;
abduo quando os membros superiores ou inferiores se
afastam do plano mediano; e
rotao quando os ossos articulados giram em torno dos
seus prprios eixos.
A supinao e pronao correspondem aos movimentos de ro-
tao lateral e rotao medial do antebrao, e a circunduo a
somatria de fexo, abduo, extenso e aduo no espao.
3.5.3 Classicao das articulaes sinoviais
Podemos classifcar as articulaes sinoviais de acordo com v-
rios critrios:
quanto ao nmero de ossos articulados, 1. as articulaes sino-
viais so classificadas em simples e compostas. Elas so sim-
ples quando ocorrem entre dois ossos, e compostas entre trs
ou mais ossos. A articulao escpulo-umeral (ombro) um
exemplo de articulao simples, enquanto a articulao do co-
tovelo composta;
quanto ao eixo de movimento, 2. as articulaes sinoviais so
classificadas em monoaxiais, biaxiais e triaxiais. Esses tipos
52 Artrologia
Figura 3.9 - A gura mostra os movimentos realizados pelas junturas sinoviais
Ombro
(exo)
Cotovelo
(exo)
Joelho
(extenso)
Joelho
(exo)
Ombro
(abduo)
Quadril
(abduo)
Ombro
(aduo)
Quadril
(aduo)
Ombro
(extenso)
Cotovelo
(extenso)
Cotovelo
(supinao)
Cotovelo
(pronao)
Ombro
(circunduo)
Ombro
(rotao medial)
Tronco
(exo lateral)
Ombro
(rotao lateral)
53 Artrologia
de articulaes realizam o movimento em torno de um, dois ou
trs eixos, respectivamente. Existe um quarto grupo classifica-
do como no axial (ou anaxial) que apenas realiza o movimen-
to de deslizamento de uma superfcie ssea sobre a outra. A
articulao mero-ulnar um exemplo de articulao monoa-
xial, pois ela realiza apenas os movimentos de flexo e extenso.
J a articulao do punho representa uma articulao biaxial,
porque ela realiza os movimentos de flexo, extenso, aduo
e abduo. Por outro lado, as articulaes escpulo-umeral e
quadril so triaxiais, porque elas realizam os movimentos de
flexo, extenso, aduo, abduo e rotao;
quanto ao funcionamento, 3. as articulaes sinoviais so clas-
sificadas em dependentes e independentes. As articulaes
dependentes dependem da integridade de uma outra articu-
lao para realizar o movimento, e as articulaes indepen-
dentes no dependem da integridade de uma outra articulao
para se movimentar. Para entender esse tipo de classificao
funcional, precisamos raciocinar um pouco. Procure abrir e
fechar a boca, voc vai verificar que a mandbula articula-se
com o crnio por meio de uma articulao (Art. temporoman-
dibular) de cada lado da face. Quando voc fala ou mastiga, as
duas articulaes trabalham simultaneamente. Portanto, uma
articulao depende da integridade da outra para poder fun-
cionar. Neste caso, classificamos as articulaes temporoman-
dibulares funcionalmente como dependentes. Agora, procure
realizar a flexo do antebrao sobre o brao do lado direito do
corpo. Observe que, para realizar esse movimento, no pre-
ciso movimentar a mesma articulao do lado oposto. Ento,
classificamos a articulao do cotovelo, funcionalmente, como
independente, isto , um cotovelo no depende do outro para
realizar o movimento; e
quanto forma das superfcies articulares 4. (veja a Figura 3.10),
as articulaes sinoviais so classificadas em: plana, gnglimo,
trocide, selar, condilar e esferide.
Na articulao plana as superfcies de contato so planas ou
ligeiramente planas. Elas permitem apenas o movimento de
54 Artrologia
deslizamento entre os ossos e, por isso, so articulaes no
axiais. Encontramos esse tipo de articulao entre o acrmio
e a clavcula (Art. Acrmio-clavicular).
Na articulao gnglimo (em dobradia) as superfcies ar-
ticulares tm uma tal forma que os movimentos possveis
so a flexo e a extenso. Esses tipos de articulaes so en-
contradas no cotovelo e entre as falanges nos dedos.
Na articulao trocide as superfcies articulares so ciln-
dricas, isto , tm a forma de piv. So monoaxiais e permi-
tem a rotao. Como exemplo podemos citar a articulao
radioulnar proximal, em que a pronao e a supinao so
os nicos movimentos possveis.
Na articulao selar as superfcies articulares tm a forma
de sela de montaria. So biaxiais e permitem os movimentos
de flexo e extenso, aduo e abduo. A articulao carpo-
metacrpica, na base do 1 dedo (polegar), um exemplo de
articulao selar.
Na articulao condilar h uma superfcie articular ligei-
ramente cncava e outra levemente convexa. So biaxiais e
permitem os movimentos de flexo e extenso, aduo e ab-
duo e circunduo. Encontramos esse tipo de articulao
entre o rdio e o carpo (Art. Radiocrpica ou punho)
Na articulao esferide as superfcies sseas so formadas
por uma cabea esfrica de um osso contrapondo-se a uma
cavidade em forma de taa do outro. So triaxiais e permi-
tem os movimentos de flexo e extenso, aduo e abduo,
rotao lateral e medial e circunduo. H somente duas ar-
ticulaes esferides no corpo: a do ombro (Art. Escpulo-
umeral) e a do quadril.
55 Artrologia
ex: articulao do cotovelo
ex: articulao carpo-metacrpica do polegar ex: articulao acrmio clavicular
ex: articulao atlanto-axial
ex: articulao metacarpo-falngicas
1
2
3 6
5
4
ex: articulao escpulo-umeral (ombro)
articulao coxo-femoral (quadril)
Figura 3.10 - Exemplos de superfcies articulares das articulaes sinoviais.
56 Artrologia
Resumo
A Artrologia a parte da Anatomia que estuda as articulaes.
As articulaes so o meio de unio que ocorre entre os ossos ou
as cartilagens.
A maioria das articulaes entre os ossos mvel, o que permite
que determinadas partes (ou mesmo o corpo inteiro) se movimen-
tem conforme a atuao dos msculos sobre elas.
Doenas corriqueiras das articulaes (artrites) no colocam a
vida em risco, mas podem levar a diferentes graus de incapacida-
de, interferir em movimentos importantes da mo, essncias vida
diria, e causar severos problemas de mobilidade que impedem as
pessoas de se locomover normalmente.
Existem trs tipos de articulaes: fbrosas, cartilaginosas e
sinoviais. Na fbrosa os ossos so unidos por tecido fbroso, pos-
suem pouco ou nenhum movimento; na cartilaginosa os ossos so
conectados por tecido cartilaginoso, permitem movimentos limi-
tados; e na sinovial os ossos esto unidos pela cpsula articular,
apresentam grande amplitudes de movimentos.
So elementos constantes das articulaes sinoviais: cartila-
gem articular, cpsula articular, lquido sinovial e cavidade arti-
cular. E so elementos inconstantes: discos, meniscos, lbios e
ligamentos.
Referncias Bibliogrcas
1) Livro Texto
CASTRO, S. V. Anatomia Fundamental. 3. ed. So Paulo: Makron
Books, 1985.
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Sistmi-
ca e Segmentar: para o estudante de Medicina. 2. ed. So Paulo:
Atheneu, 1998.
57 Artrologia
MCMINN, R. M. H.; HUTCHINGS, R. T.; LOGAN, B. M. Com-
pndio de Anatomia Humana. So Paulo: Manole, 2000.
SPENCE, A. P. Anatomia Humana Bsica. 2. ed. So Paulo: Ma-
nole, 1991.
2) Livro Atlas
KHALE, W.; LEONHARDT, H.; PLATZER, W. Atlas de Anato-
mia Humana. So Paulo: Livraria Atheneu, 1988. v. 1-2.
NETTER, H. F. Atlas de Anatomia Humana. 8. ed. Porto Alegre:
Artes Mdicas, 1966. v. 1.
ROHEN, J .W.; YOKOCHI, C. Atlas fotogrfco de Anatomia Sis-
tema e Regional. So Paulo: Manole, 1989.
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 20. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1995. v. I-II.
C
A
P
T
U
L
O
4
C
A
P
T
U
L
O
4
Miologia
Todos os movimentos efetuados, voluntrios ou involunt-
rios, implicam a interveno de um nmero importante de
msculos, que podem ser de diversos tipos. Os msculos po-
dem ser conceituados de acordo com a estrutura histolgica
e a ao do sistema nervoso central. Alm de conceitu-los
e classifc-los, voc ser capaz de descrever os msculos es-
triados esquelticos de acordo com a ao, a forma, o nmero
de ventres musculares, suas origens e inseres. Poder ainda
descrever bainha sinovial e bolsa sinovial e tambm identif-
car os principais msculos do esqueleto axial e apendicular.
61 Miologia
4.1 Generalidades e Conceitos
Os msculos esto distribudos por todas as partes do corpo.
Devido sua capacidade de se contrair, desempenha funes mui-
to importantes. Eles, em conjunto com o sistema sseo, formam
um sistema de alavancas biolgicas que permitem ao indivduo lo-
comover-se e movimentar os diversos segmentos do corpo. Alm
disso, participam dos movimentos peristlticos do tubo digestrio
e dos batimentos cardacos.
O termo miologia deriva do grego mios, que signifca ms-
culo, e logus, que signifca estudo. Portanto, Miologia a parte
da Anatomia que estuda os msculos. Os msculos so estruturas
constitudas por clulas (fbras musculares) com capacidade de se
contrair (diminuindo o seu comprimento) e relaxar (alongando-se).
4.2 Classicao dos Msculos
Quanto ao controle do Sistema Nervoso, os msculos, assim
como quaisquer partes do nosso corpo, so coordenados pelo
sistema nervoso central. Por isso, os msculos so classificados
em voluntrios e involuntrios. Os msculos voluntrios so
aqueles que realizam uma ao de acordo com a nossa vontade.
O ato de caminhar, saltar ou chutar uma bola so exemplos de
aes voluntrias. Os msculos involuntrios so aqueles que
realizam uma ao sem que o indivduo tenha controle do ato
62 Miologia
que est ocorrendo. Os batimentos cardacos e os movimentos
peristlticos do tubo digestrio so realizados por msculos
que fogem do nosso controle voluntrio e, por isso, so consi-
derados msculos involuntrios.
Quanto ao aspecto histolgico, os msculos apresentam uma
srie de caractersticas prprias que permitem distinguirmos
trs tipos de fibras musculares. Uma das principais caracters-
ticas a presena de estrias transversais na fibra muscular. Os
msculos lisos (veja a Figura 4.1A), que no possuem estrias
transversais, so na maioria das vezes involuntrios e encon-
trados principalmente nas vsceras. Os msculos estriados es-
quelticos (veja a Figura 4.1C) possuem estrias transversais,
so na maioria das vezes voluntrios e esto fixados ao esque-
leto. E o msculo estriado cardaco (veja a Figura 4.1B) possui
estrias transversais, involuntrio e est presente na camada
mdia (miocrdio) da parede do corao.
4.3 Msculo Estriado Esqueltico
A seguir, todas as consideraes que faremos sero dirigidas aos
msculos estriados esquelticos.
4.3.1 Elementos constituintes
A Figura 4.2 ilustra os elementos constituintes do msculo es-
triado esqueltico. O msculo estriado esqueltico possui uma
Fibra de
msculo
liso
Ncleo
Ncleo
Ncleo
Estrio
Estrio
Fibra
muscular
Fibra
muscular
A B C
Figura 4.1 - Tipos de bras musculares. A - Estmago, B - Corao e C -Msculo bceps braquial
63 Miologia
poro central, avermelhada e contrtil (ativa) do msculo deno-
minado de ventre muscular. As extremidades dos msculos po-
dem ser de dois tipos: em forma de fta os tendes (passivo) ou em
forma de lmina as aponeuroses, por meio das quais os mscu-
los vo se fxar no esqueleto, na pele e em outros msculos. Alm
disso, cada msculo apresenta a fscia muscular, membrana de
tecido conjuntivo que o envolve. A fscia muscular permite o livre
deslizamento dos msculos entre si e ao mesmo tempo se espessa
para se fxar nos ossos (septos intramusculares) formando com-
partimentos para alojar grupos musculares.
Figura 4.2 - Desenho esquemtico dos elementos dos msculos estriados esquelticos
4.3.2 Anexos musculares
Os anexos musculares (veja a Figura 4.3) so estruturas em for-
ma de bolsa contendo lquido sinovial que permitem aos tendes
o deslizamento sem o atrito durante os movimentos das articula-
es. Os anexos musculares so de dois tipos: a bainha sinovial,
dupla membrana sinovial que envolve o tendo muscular e que se
interpe ao tendo e ao osso ou entre o tendo e a pele. O outro
tipo de anexo muscular a bolsa sinovial, bolsa de membrana si-
novial que contm liquido sinovial e que se interpe entre o ten-
do e o osso ou entre o tendo e a pele.
Tendinite um processo
inamatrio do tendo
muscular.
tendo
tendo
ventre
ventre
loja muscular
aponeurose
fascia fascia
A bursite um processo
inamatrio situado na bolsa
sinovial, a tendinite uma
inamao no tendo e a
tenossinovite a inamao
do tendo e da bainha
sinovial que reveste o tendo,
respectivamente.
64 Miologia
Figura 4.3 - Ilustraes esquemticas da bolsa sinovial e da bainha sinovial
4.3.3 Origem e insero muscular
Em relao origem e insero muscular, existem algumas
controvrsias.
Vamos considerar a maneira mais fcil de se compreender o seu
conceito. Ento, podemos dizer que a origem a extremidade do
msculo que est presa no segmento sseo que permanecer fxo
durante o movimento, e a insero a extremidade do msculo
que est presa no segmento que se deslocar durante o movimen-
to. Portanto, a origem corresponde ao ponto fxo e a insero, ao
ponto mvel do msculo. Por exemplo, o movimento de fexo do
antebrao sobre o brao
realizado pelos mscu-
los braquial e bceps bra-
quial. Veja, ento, que
quando se realiza o mo-
vimento a extremidade
proximal do msculo b-
ceps braquial permane-
ce fxa, portanto, corres-
bolsa sinovial bainha sinovial
MVEL
F
I
X
O
Figura 4.4 - A gura mostra
exemplo de origem e insero
muscular
65 Miologia
ponde origem muscular. Por outro lado, a extremidade distal do
msculo corresponde insero, isto , a extremidade do msculo
que est presa no segmento que se desloca (veja a Figura 4.4).
4.3.4 Classicao dos msculos estriados esquelticos
A classifcao a seguir se aplica somente aos msculos estria-
dos esquelticos, conforme veremos:
Quanto forma e ao arranjo das fibras musculares : a forma
e o arranjo das fibras musculares esto condicionados princi-
palmente sua funo. Fibras com disposies paralelas so
encontradas principalmente nos msculos longos e largos. Os
msculos longos (veja a Figura 4.5) so geralmente fusiformes,
e os largos apresentam a forma de leque, por exemplo, mscu-
los bceps braquial e peitoral maior, respectivamente.
Msculos com fbras dispostas obliquamente so classifcados
como: semipeniformes (unipenados), peniformes (bipenados) e
multipeniformes (multipenados).
A Figura 4.6 ilustra a classifcao dos msculos esquelticos de
acordo com a disposio de suas fbras musculares. No msculo
semipeniforme as suas fbras esto inseridas obliquamente numa
Figura 4.5 - Exemplos de msculos longos: (A) m. esternocleidomastideo e
(B) m. bceps braquial
66 Miologia
das bordas do tendo muscular, como ocorre com o msculo ex-
tensor dos dedos do p (veja a Figura 4.6). No msculo peniforme
em forma de pena as suas fbras esto inseridas nas duas bor-
das do tendo muscular, como ocorre com o msculo reto femoral
(veja a Figura 4.6). No msculo multipeniforme, as sua fbras esto
inseridas obliquamente nas duas bordas dos vrios tendes que
possui o msculo, so encontradas no msculo deltide (veja a
Figura 4.6).
Podemos, ainda, encontrar msculos em que as suas fbras esto
dispostas circularmente, como os msculos orbiculares da boca e
do olho.
Figura 4.6 - Representao dos msculos: extensor dos dedos do p, reto femoral e
deltide
Quanto origem ou ao nmero de cabeas: os msculos
que apresentam dois tendes (cabeas) de origens so classi-
ficados como bceps, os que possuem trs tendes (cabeas),
como trceps e os que apresentam quatro tendes de origens,
como quadrceps. So exemplos os msculos encontrados nos
membros como (veja a Figura 4.7): m. bceps braquial e m.
trceps braquial no brao, e o m. quadrceps femoral na coxa,
respectivamente.
Msculo
semipeniforme
(ex: m. extensor longo
dos dedos do p)
Msculo
peniforme
(ex: m. reto femoral)
Msculo
multipeniforme
(ex: m. deltide)
67 Miologia
Quanto insero ou ao nmero de caudas: os msculos que
apresentam um nico tendo de insero so classificados como
monocaudados, os que possuem dois tendes de inseres so
bicaudados e os que possuem trs ou mais tendes de inser-
es so classificados como policaudados. Como exemplos ci-
tamos os msculos encontrados no membro inferior como: m.
tibial posterior, m. flexor curto do hlux e m. extensor longo
dos dedos do p, respectivamente (veja a Figura 4.8).
A B C
m. bceps
braquial
m. trceps
braquial
quadrceps
femural
Figura 4.7 - Representao dos msculos:
(A) m. bceps braquial, (B) m. trceps
braquial e (C) m. quadrceps femoral
msculo
tibial posterior
msculo
exor curto
do hlux
msculo extensor
longo dos dedos
dos ps
Figura 4.8 - Representao
esquemtica dos msculos: tibial
posterior, exor curto hlux e
extensor longo dos dedos do p
68 Miologia
Quanto ao nmero de ventres musculares : os msculos que
apresentam dois ventres musculares interpostos por um ten-
do so classificados como digstricos (veja a Figura 4.9A)
(por exemplo, m. omo-hiide no pescoo) e os que possuem
trs ou mais ventres musculares interpostos por tendes so
os poligstricos (veja a Figura 4.9B) (por exemplo, m. reto do
abdome).
Quanto funo, em um determinado movimento : os ms-
culos so classificados em:
agonista a) , o msculo ou grupo de msculos responsvel
pela ao principal de um movimento, por exemplo, o m.
quadrceps femoral o agonista no movimento de estender
a articulao do joelho;
antagonista, b) o msculo ou grupo de msculos que se
opem ao do agonista, por exemplo, o m. bceps femoral
se ope ao do m. quadrceps femoral quando a articula-
o do joelho estendida;
tendo muscular
msculo omo-hiide
(ventre superior)
msculo omo-hiide
(ventre inferior)
A
ventres
musculares
intersees
tendneas
B
Figura 4.9 - A gura mostra a representao do m. omo-hiide (A) e do m. reto do abdome (B)
69 Miologia
fxador ou postural, c) este um msculo ou grupo de mscu-
los que fxam as articulaes para que a ao principal seja
realizada, por exemplo, os msculos que mantm o membro
superior unido ao tronco se contraem como fxadores para
permitir que o m. deltide atue sobre a articulao do om-
bro; e
sinergista, d) o msculo ou grupo de msculos que estabili-
zam as articulaes, evitando movimentos indesejveis que
poderiam ser realizados pela ao do agonista, por exemplo,
na fexo dos dedos da mo, o m. fexor longo dos dedos
atravessa as articulaes do cotovelo e do punho para reali-
zar a fexo dos dedos. A fexo do cotovelo e do punho no
ocorre, durante esse movimento, devido ao de msculos
sinergistas que estabilizam as articulaes evitando, assim,
movimentos no desejados que poderiam ser realizados
pelo agonista.
Dependendo do movimento a ser efetuado, o msculo ou grupo
de msculos podem atuar como agonista, antagonista, fxador ou
at mesmo como um sinergista.
Resumo
A Miologia a parte da Anatomia que estuda os msculos. Os
msculos so estruturas constitudas de clulas com a capacida-
de de se contrair, isto , diminuir o seu comprimento. Os mscu-
los voluntrios so controlados pelo sistema nervoso central, e
os msculos involuntrios so controlados pelo sistema nervoso
autnomo.
Encontram-se no corpo humano trs tipos de msculos: o ms-
culo liso encontrado nas vsceras, o msculo estriado esqueltico
fxado ao esqueleto e o msculo estriado cardaco localizado no
corao.
O msculo estriado esqueltico possui uma poro central, o
ventre muscular e duas extremidades, o tendo ou aponeurose
envolvidos pela fscia muscular. Eles so denominados de acordo
70 Miologia
com a ao, a forma, a origem, a insero, o nmero de ventres, a
localizao ou a direo das fbras. Alm disso, so classifcados
quanto sua funo em: agonista, o msculo responsvel pelo
movimento principal; antagonista, o msculo que deve relaxar
para a ao principal ocorrer; fxador, o msculo que fxa a ar-
ticulao para que a ao principal seja realizada; e sinergista, o
msculo que estabiliza a articulao evitando movimentos indese-
jveis que poderiam ser realizados por ao do agonista.
Referncias Bibliogrcas
1) Livro Texto
CASTRO, S. V. Anatomia fundamental. 3. ed. So Paulo: Makron
Books, 1985.
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Sistmi-
ca e Segmentar: para o estudante de Medicina. 2. ed. So Paulo:
Atheneu, 1998.
MCMINN, R. M. H.; HUTCHINGS, R. T.; LOGAN, B. M. Com-
pndio de Anatomia Humana. So Paulo: Manole, 2000.
SPENCE, A. P. Anatomia Humana Bsica. 2. ed. So Paulo: Ma-
nole, 1991.
2) Livro Atlas
KHALE, W.; LEONHARDT, H.; PLATZER, W. Atlas de Anato-
mia Humana. So Paulo: Livraria Atheneu, 1988. v. 1-2.
NETTER, H. F. Atlas de Anatomia Humana. 8. ed. Porto Alegre:
Artes Mdicas, 1966. v. 1.
ROHEN, J. W.; YOKOCHI, C. Atlas fotogrfco de Anatomia Sis-
tema e Regional. So Paulo: Manole, 1989.
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 20. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1995. v. I-II.
C
A
P
T
U
L
O
5
C
A
P
T
U
L
O
5
Sistema Nervoso
Executar uma ttica de jogo, sentir frio ou calor so rea-
es relacionadas ao trabalho do Sistema Nervoso, que de-
tecta estmulos internos ou externos e desencadeia respostas.
Ao fnal deste captulo voc ser capaz de conceituar e dividir
o Sistema Nervoso de acordo com os critrios morfolgico
e funcional. Voc tambm poder identifcar a estrutura, a
constituio, a distribuio de substncia branca e cinzenta,
as cavidades e as divises do sistema nervoso central. Pode-
r tambm descrever as meninges do encfalo e da medula
espinhal; a origem, a funo, a circulao e a absoro do
lquido cerebrospinal (liquor); a anatomia macroscpica e a
distribuio dos nervos cranianos e espinhais.
75 Sistema Nervoso
5.1 Generalidades e Conceitos
O conhecimento do homem, do seu meio ambiente, tornou-se
possvel graas ao funcionamento integrado do Sistema Nervoso,
por meio de um grupo de clulas especializadas que possuem ca-
ractersticas de excitabilidade e condutividade. Assim, o Sistema
Nervoso no somente cria um conhecimento do meio ambiente,
mas o torna possvel para que o corpo humano responda s mu-
danas ambientais com a necessria preciso.
Portanto, o Sistema Nervoso um conjunto de rgos respon-
sveis pela coordenao e pela integrao dos sistemas orgnicos.
Alm disso, ele relaciona o organismo com meio externo e, ao
mesmo tempo, coordena o funcionamento visceral.
5.2 Diviso do Sistema Nervoso
Podemos dividir o Sistema Nervoso de acordo com dois crit-
rios, o morfolgico e o funcional.
De acordo com o critrio morfolgico, dividimos o Sistema Ner-
voso em sistema nervoso central e sistema nervoso perifrico.
O Sistema Nervoso Central (SNC) a parte situada dentro da
caixa craniana e do canal vertebral. Ele analisa informaes,
armazena-as sob a forma de memria e elabora padres de res-
posta ou gera respostas espontneas.
76 Sistema Nervoso
O Sistema Nervoso Perifrico (SNP) a parte situada fora da
caixa craniana e do canal vertebral. Ele interliga o SNC a outras
regies do corpo.
Do ponto de vista funcional, podemos dividir o Sistema Nervo-
so em sistema nervoso somtico (ou da vida de relao) e sistema
nervoso visceral (ou da vida vegetativa).
O sistema nervoso somtico (SNS) relaciona o indivduo com
as variaes do meio externo, enquanto o sistema nervoso vis-
ceral (SNV) responsvel pela manuteno do equilbrio in-
terno das vsceras (homeostase).
5.3 Sistema Nervoso Central
A partir de agora vamos estudar o sistema nervoso central de
forma mais detalhada.
5.3.1 Diviso do SNC
O sistema nervoso central
divide-se em encfalo e medu-
la espinal, que se encontram
dentro do crnio e do canal
vertebral.
O encfalo (veja a Figura 5.1)
divide-se em crebro, tronco
enceflico e cerebelo. Por ou-
tro lado, o crebro formado
pelo telencfalo e o diencfalo,
enquanto o tronco enceflico
constitudo por mesencfa-
lo, ponte e bulbo ou medula
oblonga.
Cerebelo
MEDULA
ESPINHAL
Mesencfalo
Telencfalo Diencfalo
TRONCO
ENCEFLICO
CREBRO
ENCFALO
Ponte
Bulbo
Figura 5.1 - Representao
esquemtica da diviso do SNC
77 Sistema Nervoso
5.3.2 Estrutura e constituio do SNC
Distinguimos macroscopicamente no sistema nervoso central
uma rea de substncia branca e uma outra rea de substncia cin-
zenta, como mostra a Figura 5.2.
A rea de substncia branca de tecido
nervoso formado de neurglia (clulas de
sustentao do Sistema Nervoso) e fbras
nervosas mielnicas. Encontramos a sus-
tncia branca distribuda, principalmen-
te, na regio externa da medula espinhal
e do tronco enceflico e na regio interna
do crebro e do cerebelo.
A rea de substncia cinzenta , tam-
bm, de tecido nervoso formado por fbras
nervosas amielnicas, neuroglias e corpos
de neurnios (clula nervosa). Encontra-
mos esse tipo de sustncia cinzenta distri-
buda internamente na medula espinhal,
no tronco enceflico, e externamente no
crtex cerebral e no crtex cerebelar. No
interior do crebro e do cerebelo a subs-
tncia cinzenta forma os ncleos da base e
os ncleos centrais, respectivamente.
O crtex uma camada de substncia cinzenta que envolve o
crebro (crtex cerebral) e o cerebelo (crtex cerebelar), enquanto
o ncleo representa um agrupamento de corpos de neurnios dis-
tribudo dentro do crebro (ncleos da base) e dentro do cerebelo
(ncleos centrais do cerebelo).
5.3.3 Cavidades do SNC
O sistema nervoso central possui uma luz (espao) no seu in-
terior que comea aparecer no incio da formao embrionria,
persistindo no indivduo adulto (Veja a Figura 5.3).
Esse espao permanece dentro da medula espinal e passa a ser
chamado de canal ependimrio ou canal central da medula.
Substncia
cinzenta
Substncia
branca
Figura 5.2 - Distribuio das
substncias branca e cinzenta
no SNC
Do latim Medulla
spinalis, conhecida na
linguagem popular como
medula espinhal.
78 Sistema Nervoso
No encfalo, encontramos cavidades denominadas de ventrcu-
los enceflicos. Dentro do telencfalo, duas grandes cavidades, os
ventrculos laterais, comunicam-se com o III ventrculo situado
no diencfalo por meio do forame interventricular. O III ven-
trculo uma cavidade que se comunica com o IV ventrculo,
que est situado entre o cerebelo e o tronco enceflico, por meio
do aqueduto mesenceflico.
Figura 5.3 - A gura mostra os ventrculos enceflicos por onde circula o liquor no SNC
5.3.4 Envoltrios do SNC (meninges)
O sistema nervoso central est envolvido por membranas de-
nominadas de meninges, que, por sua vez, est constituda de trs
lminas. A lmina externa a dura-mter, que na medula espinal
formada por um nico folheto e no encfalo constituda por
dois folhetos. A lmina mdia a aracnide, e a lmina interna
a pia-mter, que est aderida ao tecido nervoso central (Veja a
Figura. 5.4).
Hidrocefalia o bloqueio da
circulao do liquor durante
a infncia, antes que os
ossos do crnio tenham se
unido rmemente, a cabea
aumenta de tamanho
medida que a presso no
interior do encfalo aumenta.
arqueduto
mesenceflico
IV ventrculo
III ventrculo
forame
interventricular
ventrculo
lateral direito
ventrculo
lateral esquerdo
canal central da
medula espinhal
Meningite uma infeco das
meninges.
79 Sistema Nervoso
Entre as lminas das meninges existem espaos ocupados por
plexos venosos e lquidos. O espao epidural (extradural ou peri-
dural) preenchido pelo plexo venoso vertebral interno localiza-se
entre o canal vertebral e a dura-mter. O espao subdural situa-se
entre a dura-mter e a aracnide. Nesse espao encontramos ape-
nas lquido que lubrifca as lminas das meninges. O espao suba-
racnideo situa-se entre a aracnide e a pia-mter. Esse o espao
mais importante entre as meninges pelo fato de ser preenchido
pelo liquor ou lquido crebro espinhal.
Dura-mter
Aracnide
Espao
subaracnideo
Pia-mter
Figura 5.4 - A gura ilustra as meninges: dura-mter, aracnide e pia-mter
80 Sistema Nervoso
5.3.5 Lquido crebro-espinhal ou
liquor
O liquor um lquido incolor produzido
pelos plexos coriides que circula nas ca-
vidades ventriculares e no espao subarac-
nideo (Veja a Figura 5.5). O seu volume
de 100 a 150ml, renovando-se a cada 8 ho-
ras. Ele absorvido nas granulaes arac-
nideas, que so projees da aracnide
para dentro do seio sagital superior.
As principais funes do liquor so as
protees mecnicas e biolgicas que ele
exerce sobre o SNC.
5.3.6 Anatomia macroscpica do
sistema nervoso central
A seguir estudaremos as partes que compem o sistema nervo-
so central.
A) Medula espinal
A medula espinal uma massa cilndrica de tecido nervoso si-
tuada dentro do canal vertebral, conforme ilustra a Figura 5.6. Ela
se apresenta dilatada em duas regies: na regio cervical devido
conexo com o plexo braquial e na regio lombar devido conexo
com o plexo lombossacral. Essas regies so chamadas, respectiva-
mente, de intumescncia cervical e intumescncia lombar.
A medula espinal termina aflando-se para formar um cone, o
cone medular que continua com delgado flamento menngeo, o
flamento terminal, at o fundo do saco dural.
No adulto, a medula espinhal (Veja a Figura. 5.6) termina no
nvel da 2 vrtebra lombar. Abaixo desse nvel o canal vertebral
contm apenas as meninges e as razes nervosas dos ltimos ner-
vos espinhais, que, dispostas em torno do cone medular e do fla-
mento terminal, constituem a cauda eqina.
ventrculos
enceflicos
plexo
coriide
seio sagital
superior
granulaes da aracnde
cisterna
magna
espao
subaracnideo
Figura 5.5 - A gura ilustra o
trajeto do liquor no SNC
A puno lombar a coleta
de liquor contido no espao
subaracnideo da medula
espinal. Geralmente a agulha
introduzida entre L3 e L4 ou
L4 e L5.
81 Sistema Nervoso
B) Tronco enceflico
O tronco enceflico (Veja a Figura 5.7) a parte
do sistema nervoso central que se interpe entre a
medula espinal e o diencfalo, situando-se ven-
tralmente ao cerebelo.
Distinguem-se trs partes dividindo o tronco
enceflico: (1) o bulbo, situado inferiormente;
(2) o mesencfalo, situado superiormente; e (3) a
ponte, situada entre os dois.
As funes do tronco enceflico incluem cen-
tros responsveis pelo controle da presso sang-
nea, da respirao, do vmito, alm do controle do
sono e da viglia.
Bulbo
Ponte
Mesencfalo
Figura 5.7 - A gura mostra o tronco enceflico:
bulbo, mesencfalo e ponte
C) Cerebelo
O cerebelo (veja a Figura 5.8) a parte do sistema nervoso cen-
tral situado na fossa cerebelar da caixa craniana, posteriormente ao
tronco enceflico e inferiormente ao lobo occipital do telencfalo.
Anatomicamente, dividem-se no cerebelo numa poro mpar
e mediana o vermis e duas grandes massas laterais, os hemisfrios
cerebelares.
Segmentos cervicais
Segmentos torcicos
Segmentos lombares
Intumescncia cervival
Segmentos sacrais
Segmentos coccgeos
Filamento terminal
Cauda equina
Intumescncia
lombossacral
Medula espinal
no canal vertebral
Figura 5.6 - Desenho
esquemtico da medula espinal
82 Sistema Nervoso
O cerebelo responsvel por funes importantes, tais como
manuteno do equilbrio, tnus muscular e postura, alm de
exercer atividade de coordenao motora involuntria.
Figura 5.8 - Diviso anatmica do cerebelo
D) Diencfalo
O diencfalo a poro do sistema nervoso central supra-seg-
mentar localizado logo acima do mesencfalo, sendo recoberto
pelos hemisfrios cerebrais. O diencfalo e o telencfalo, em con-
junto, formam o crebro.
Como ilustra a Figura 5.9, o diencfalo divide-se em tlamo,
hipotlamo, epitlamo e subtlamo. Todas essas partes fcam situ-
adas nas paredes do diencfalo. O tlamo fca situado logo acima
do sulco hipotalmico; o epitlamo est localizado posterior-
mente ao tlamo; o hipotlamo est situado logo abaixo do sulco
hipotalmico; e o subtlamo a regio de transio entre o me-
sencfalo e o diencfalo. A cavidade do III
o
ventrculo localiza-se
entre as paredes do diencfalo.
O diencfalo responsvel por diversas funes vitais, tais como
o controle do sistema endcrino, o controle das emoes os esta-
dos motivacionais e o ritmo circadiano (biorritmo).
vrmis
hemisfrio
cerebelar direito
hemisfrio
cerebelar esquerdo
83 Sistema Nervoso
E) Telencfalo
O telencfalo (veja a Figura 5.10) a poro superior e mais
desenvolvida do SNC, ocupa 80% da caixa craniana e est situado
acima do diencfalo.
Cada telencfalo possui trs faces: a face spero-lateral est
voltada para a calota craniana; a face medial est voltada para o
plano mediano e a face basal est apoiada na base do crnio.
O telencfalo possui trs sulcos que o se dividem em lobos. O
sulco central uma depresso que fca na face spero-lateral; o
sulco lateral uma depresso transversal na face spero-lateral; e
o sulco parieto-occipital a depresso na face medial do telenc-
Corpo caloso
Crebro
Epitlamo
Cerebelo
Ponte
Bulbo
Tlamo
Hipotlamo
Mesencfalo
Figura 5.9 - A gura ilustra a diviso do diencfalo em tlamo, hipotlamo e epitlamo
84 Sistema Nervoso
falo. Esses sulcos dividem o telencfalo
em lobos. O lobo frontal fca posicio-
nado anteriormente ao sulco central; o
lobo parietal localiza-se entre o sulco
central e o sulco parieto-occipital; o
lobo occipital situa-se posteriormente
ao sulco parieto-occipital; o lobo tem-
poral fca logo abaixo do sulco lateral.
E, para localizar o lobo da nsula, pre-
cisamos abrir o sulco lateral.
Alm das funes psquicas, o telen-
cfalo coordena os estmulos sensoriais
e a motricidade. Alm disso, age de maneira integrada, havendo
algumas reas com funes especializadas, por exemplo, o hemisf-
rio esquerdo responsvel pela linguagem e o raciocnio matem-
tico, enquanto o hemisfrio direito est relacionado s habilidades
artsticas (msica e pintura) e ao reconhecimento de formas.
5.4 Sistema Nervoso Perifrico
O sistema nervoso perifrico a parte do Sistema Nervoso que
est situado fora do canal vertebral e da cavidade craniana. Ele
constitudo de nervos, terminaes nervosas e gnglios.
5.4.1 Constituio
Os nervos so cordes esbranquiados que unem o SNC a um
rgo perifrico. Classifcamos os nervos quanto funo das f-
bras nervosas em: nervos sensitivos (aqueles que esto envolvidos
com a sensibilidade); nervos motores (aqueles que esto envolvi-
dos com a motricidade); e nervos mistos (aqueles que possuem os
componentes sensitivo e motor).
Podemos, ainda, classifcar os nervos em: cranianos e espinais.
O nervo craniano aquele que faz a conexo do encfalo com um
rgo perifrico, e o nervo espinal aquele que faz a conexo da
medula espinal com um rgo perifrico.
Lobo
occipital
Lobo
parietal
Lobo
frontal
Lobo
temporal
Figura 5.10 - A gura mostra o
telencfalo e seus lobos
85 Sistema Nervoso
Os nervos cranianos, em nmeros de 12 pares, fazem conexes
com o encfalo. A fgura a seguir mostra os 12 pares de nervos
cranianos:
IX glossofarngeo
I olfatrio
II ptico
III oculmotor
IV troclear
V trigmio
VI abducente
VII facial
VIII vestbulo-coclear
X vago
XI acessrio
XII hipoglosso
Figura 5.11 - Representao esquemtica dos nervos cranianos
Os nervos espinais, em nmeros de 31 pares, fazem conexo
com a medula espinal. Desses nervos espinais, 8 pares so cervi-
cais, 12 torcicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coccgeo.
86 Sistema Nervoso
As terminaes nervosas so estruturas complexas situadas
nas extremidades dos nervos. Elas so de dois tipos: as sensitivas
(receptores) captam estmulos e as motoras (efetuadoras) estimu-
lam os rgos a efetuarem as respostas. As respostas do Sistema
Nervoso sero sempre manifestadas como uma contrao muscu-
lar (msculos liso, cardaco ou esqueltico) ou com uma secreo
glandular.
Os gnglios so agrupamentos de corpos de neurnios localiza-
dos fora do sistema nervoso central. Podemos encontrar gnglios
sensitivos na raiz do nervo espinal e gnglios motores dentro das
vsceras ou de cada lado da coluna vertebral formando a cadeia
simptica.
5.4.2 Plexo braquial
O plexo braquial um emaranhado de nervos que esto en-
trando e saindo dos segmentos cervical e torcico da medula espi-
nal. Os nervos terminais (veja a Figura 5.12) desse plexo so repre-
sentados pelos nervos mediano, ulnar, musculocutneo, radial e
axilar, que inervam a regio do ombro, do brao, do antebrao e
da mo.
n. musculocutneo
n. mediano
n. ulnar
n. ulnar
n. radial
Figura 5.12 - Desenho esquemtico do plexo braquial mostrando os seus ramos
terminais
87 Sistema Nervoso
5.4.3 Plexo lombossacral
O plexo lombossacral, conforme
mostra a Figura 5.13, um emara-
nhado de nervos que esto entrando e
saindo dos segmentos lombar e sacral
da medula espinal. Esse plexo possui
vrios nervos, sendo os principais os
nervos isquitico, femoral e obtura-
trio. Eles so responsveis pela iner-
vao do membro inferior.
5.5 Sistema Nervoso
Visceral
5.5.1 Conceito e diviso
O sistema nervoso visceral (veja a
Figura 5.14) a parte do Sistema Ner-
voso envolvido com a manuteno e o
controle da constncia interna do or-
ganismo chamado de homeostase.
uma parte importante do Sistema Ner-
voso responsvel pelo controle da freqncia cardaca, da quanti-
dade de gs carbnico e do oxignio no sangue, dos movimentos
peristlticos do tubo digestrio etc.
O sistema nervoso visceral possui um componente aferente
(sensitivo) pouco conhecido e um componente eferente (motor)
denominado de sistema nervoso autnomo, que se divide em sis-
tema nervoso simptico e sistema nervoso parassimptico.
Os sistemas nervosos simptico e parassimptico possuem dois
neurnios: um pr-ganglionar, cujo corpo celular fca dentro da
medula espinal ou do tronco enceflico, e outro ps-ganglionar,
cujo corpo celular est prximo ou dentro das vsceras.
N. femoral
N. obturatrio
Tronco
lombossacral
N. isquitico
Figura 5.13 - Representao do plexo lombossacral com os seus
ramos terminais
88 Sistema Nervoso
5.5.2 Diferenas entre os sistemas simptico e
parassimptico
A tabela a seguir mostra as diferenas anatmicas, farmacolgi-
cas e fsiolgicas que existem entre o sistema nervoso simptico e
o sistema nervoso parassimptico.
Critrio Simptico Parassimptico
posio do neurnio pr-ganglionar T1 a L2 tronco enceflico e S2, S3 e S4
posio do neurnio ps-ganglionar longe da vscera prximo ou dentro da vscera
tamanho das bras pr-ganglionares curtas longas
tamanho das bras ps-ganglionares longas curtas
classicao farmacolgica das
bras ps-ganglionares
adrenrgicas
(maioria)
colinrgicas
diferena siolgica (alguns rgos) estimulao inibio
Sistema nervoso somtico Sistema nervoso visceral
Componente simptico Componente parassimptico
neurnio
inferior
neurnio
superior
neurnio
inferior
neurnio
inferior
neurnio
superior
neurnio
ps-ganglionar
neurnio
inferior
cadeia
simptica
neurnio
superior
neurnio
ps-ganglionar
Tabela 5.1 - A tabela mostra as diferenas entre o sistema nervoso simptico e o sistema nervoso parassimptico
Figura 5.14 - Desenho esquemtico do sistema nervoso somtico e visceral, e dos componentes simptico e parassimptico
89 Sistema Nervoso
5.5.3 Anatomia do sistema nervoso simptico
O sistema nervoso simptico (veja a Figura 5.14) de origem dos
segmentos T1 a L2 da medula espinal caracteriza-se pela formao
de dois cordes de tecido nervoso que correm de cada lado e ante-
riormente coluna vertebral, denominado de cadeia simptica.
A cadeia simptica formada pelos gnglios paravertebrais, si-
tuados de cada lado da coluna vertebral, e pelos gnglios pr-ver-
tebrais, localizados anteriormente coluna vertebral. Dessa cadeia
simptica partem os nervos simpticos para inervao autnoma
das vsceras.
5.5.4 Anatomia do sistema nervoso parassimptico
O sistema nervoso parassimptico (veja a Figura 5.14) forma-
do pelos ncleos dos nervos cranianos (III, VII, IX, X e XI) locali-
zados dentro do tronco enceflico e pelos segmentos sacrais (S2 a
S4) da medula espinal.
Do tronco enceflico e dos segmentos sacrais partem os nervos
parassimpticos para inervao autnoma das vsceras.
Resumo
Neste captulo voc estudou o sistema responsvel pela coor-
denao e pela integrao do sistema orgnicos conhecido como
Sistema Nervoso. Esse sistema relaciona o organismo com o meio
externo e ao mesmo tempo controla o funcionamento visceral.
Divide-se morfologicamente o Sistema Nervoso em sistema
nervo central (encfalo e medula espinal) e sistema nervoso pe-
rifrico (12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espi-
nais) e funcionalmente em sistema nervoso somtico (relaciona
o indivduo com o meio externo) e sistema nervoso visceral (res-
ponsvel pela homeostase das vsceras).
Na face inferior do crebro est a hipfse, um dos principais
componentes do sistema endcrino. Do tronco enceflico, em sua
parte inferior e da medula espinal, no interior da coluna vertebral
90 Sistema Nervoso
emergem os nervos cranianos e espinais, que so responsveis por
todos os tipos de atividades motoras e sensitivas.
O sistema nervoso visceral possui componente aferente (sen-
sitivo) e componente eferente (motor) chamado sistema nervoso
autnomo, que se divide em sistema nervoso simptico e siste-
ma nervoso parassimptico.
Referncias Bibliogrcas
1) Livro Texto
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Sistmi-
ca e Segmentar: para o estudante de Medicina. 2. ed. So Paulo:
Atheneu, 1998.
JACOB, S. W.; FRANCONE, C. A.; LOSSOW, W. J. Anatomia e
Fisiologia Humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan,
1982.
MACHADO, A. B. M. Neuroanatomia funcional. 2. ed. Rio de
Janeiro: Atheneu, 2002.
SPENCE, A. P. Anatomia Humana Bsica. 2. ed. So Paulo: Ma-
nole, 1991.
2) Livro Atlas
NETTER, H. F. Atlas de Anatomia Humana. 8. ed. Porto Alegre:
Artes Mdicas, 1966. v. 1.
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 20. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1995. v. I-II.
C
A
P
T
U
L
O
6
C
A
P
T
U
L
O
6
Sistema Circulatrio
Quem transporta elementos essenciais como nutrientes,
oxignio e dixido de carbono no interior do nosso organis-
mo? O Sistema Circulatrio. Portanto, ao fnal deste captulo
voc ser capaz de conceituar o Sistema Circulatrio do pon-
to de vista morfolgico e funcional. Ter estudado o corao
na sua forma, localizao, estrutura, cavidades, morfologias
interna e externa, vascularizao, drenagem venosa, os va-
sos da base e o sistema excitocondutor, e poder descrever os
tipos de vasos sangneos e de circulao sangnea. Tam-
bm saber conceituar o sistema linftico, os rgos hemo-
poiticos e citar os seus componentes e localizao. Tambm
poder identifcar os rgos linfticos e os principais vasos
sangneos do corpo humano.
95 Sistema Circulatrio
6.1 Generalidades e Conceitos
O Sistema Circulatrio nutre cada parte do nosso corpo. Ele
formado pelo sistema cardiovascular, pelo sistema linftico e pelos
rgos hemopoiticos. um sistema extremamente importante no
transporte de material nutritivo e oxignio para os tecidos, alm
de atuar na defesa do organismo.
O Sistema Circulatrio compreende o conjunto de rgos for-
mados pelo corao e por um sistema de vasos por onde circulam
humores (sangue e linfa), que agem na integrao e na manuten-
o funcional dos sistemas orgnicos.
6.2 Diviso do Sistema Circulatrio
Podemos dividir o Sistema Circulatrio em sistema cardiovas-
cular, sistema linftico e rgos hemopoiticos.
O sistema cardiovascular formado pelo corao (conside-
rado como um vaso modificado), pelos vasos sangneos (ar-
trias, arterolas, capilares, vnulas e veias) e pelo sangue, que
circula dentro dos vasos e do corao.
O sistema linftico constitudo pelos vasos linfticos (tron-
cos linfticos, vasos linfticos aferentes e eferentes e capilares
linfticos), pelos rgos linfides (tonsilas e linfonodos) e pela
linfa, que circula nos vasos e nos troncos linfticos.
Os rgos hemopoiticos so representados pelo timo, bao
e medula ssea.
96 Sistema Circulatrio
6.3 Sistema Cardiovascular
A Figura 6.1 mostra que o corao est dentro de um saco f-
brosseroso chamado de pericrdio. O pericrdio formado por
duas membranas denominadas pericrdio fbroso e pericrdio
seroso. A membrana externa fbrosa, sendo denominada peri-
crdio fbroso. O pericrdio seroso a membrana interna e pos-
sui duas lminas. A lmina parietal est aderida internamente ao
pericrdio fbroso e a lmina visceral est aderida ao miocrdio,
podendo tambm ser denominada epicrdio.
Pericrdio seroso
(Lmina visceral - epicrdio)
Pericrdio seroso
(Lmina visceral - epicrdio)
Pericrdio seroso
(Lmina parietal)
Pericrdio seroso
(Lmina parietal)
Pericrdio broso Pericrdio broso
Figura 6.1 - Representao do pericrdio e localizao do corao
6.3.1 Corao, forma e situao
Podemos verifcar que o corao um rgo muscular oco que
age como uma bomba contrtil aspirante e propulsora de sangue e
97 Sistema Circulatrio
que desempenha importante papel
na dinmica da circulao sang-
nea. Ele tem uma forma piramidal
achatada no sentido ntero-poste-
rior e est localizado no mediastino
mdio entre os pulmes na cavida-
de torcica. 2/3 do corao fca es-
querda do plano mediano e 1/3 fca
direita desse mesmo plano (veja a
Figura 6.2).
6.3.2 Estrutura da parede cardaca
A parede do corao (veja a Figura 6.3)
formada por trs camadas que so de fora
para dentro, o epicrdio, o miocrdio e o
endocrdio. O epicrdio a camada exter-
na da parede cardaca, formada pelo folheto
visceral do pericrdio seroso; o miocrdio
compreende o tecido muscular estriado car-
daco que constitui a camada
mdia da parede do corao;
e o endocrdio a delgada
membrana que reveste inter-
namente o miocrdio, consti-
tuindo a camada interna.
6.3.3 Cavidades do
corao
A Figura 6.3 mostra o co-
rao como um rgo oco
que possui quatro cmaras
cardacas: duas so cmaras
Fig. 6.2 Ilustrao esquemtica da
forma do corao
Figura 6.3 - Ilustrao esquemtica do corao, mostrando as cavidades (trios e
ventrculos) e a estrutura da parede cardaca (epicrdio, miocrdio e endocrdio)
Epicrdio
Miocrdio
Endocrdio
Epi
M
trio
esquerdo
trio
esquerdo
trio
direito
trio
direito
Ventrculo
esquerdo
Ventrculo
esquerdo
Ventrculo
direito
Ventrculo
direito
98 Sistema Circulatrio
de recepo de sangue, o trio direito e o trio esquerdo, e duas
so cmaras de expulso de sangue, o ventrculo direito e o ven-
trculo esquerdo.
6.3.4 Morfologia externa do
corao
Observando o corao externamente,
verifcamos que ele apresenta uma base
voltada para cima, para a direita e para
trs. na base do corao que chegam
ou saem os grandes vasos do corao.
O pice formado pelas confuncias dos
ventrculos est voltado para baixo, para
a esquerda e para frente. Ainda, identif-
camos no corao uma face esternocos-
tal, em contato com o esterno, uma face
diafragmtica, em contato com o ms-
culo diafragma, e uma face pulmonar
ou esquerda, relacionada com o pulmo
esquerdo, conforme mostra a Figura 6.4.
Pequenas depresses conhecidas como sulcos
so encontradas na superfcie externa do corao.
Os principais sulcos so: 1) o sulco atrioventri-
cular ou coronrio, que fca entre os trios e os
ventrculos e aloja o seio coronrio; 2) o sulco
interventricular anterior, situado na face ester-
nocostal; e 3) o sulco interventricular posterior,
localizado na face diafragmtica do corao (veja
a Figura 6.4).
Agora, observando o corao internamente,
encontramos septos de tecido fbromuscular, que
divide o corao em cavidades menores (veja a
Figura 6.5). O septo atrioventricular divide a ca-
vidade do corao em dois andares. O andar su-
perior corresponde aos trios, e o andar inferior
corresponde aos ventrculos. O septo interatrial
Sulco
coronrio
Sulco
coronrio
Face
diafragmtica
Face
pulmonar
Sulco
interventricular
anterior
Sulco
interventricular
posterior
Face
esterno-costal
Face
esterno-costal
Figura 6.4 - Ilustraes da morfologia externa do
corao
99 Sistema Circulatrio
separa o andar superior em duas cmaras cardacas chamadas de
trio direito e trio esquerdo. Cada trio apresenta uma projeo
anterior em forma de orelha denominada aurcula. O septo in-
terventricular divide o andar inferior em duas cmaras cardacas
denominadas ventrculo direito e ventrculo esquerdo.
Septo
trio-ventricular
esquerdo
Septo
inter-atrial
Septo
interventricular
Septo
trio-ventricular
direito
Tronco
pulmonar
Veia cava
superior
Veia cava
inferior
Veias
pulmonares
Figura 6.5 - Iustrao do corao, mostrando os septos, as cavidades e os vasos da base
do corao
A irrigao sangnea (veja a Figura 6.6) do corao feita pelas
artrias coronria direita e coronria esquerda. Elas nascem da
aorta ascendente e nutrem todo o tecido do corao.
O sangue venoso do tecido cardaco drenado pelas veias card-
acas que se confuem para formar o seio coronrio, que desemboca
no trio direito.
Enfarte do miocrdio o
bloqueio do uxo sangneo
atravs das artrias coronrias
para o miocrdio, as clulas
musculares supridas pelo vaso
obstrudo morrem. A regio de
tecido morto denominada
de enfarte.
100 Sistema Circulatrio
Junto base do corao encontramos os vasos chamados de
vasos da base do corao, ilustrados na Figura 6.5. Esses vasos
so artrias e veias de grande calibre que levam sangue do corao
para os rgos ou trazem sangue dos rgos para o corao. Os
vasos da base so a aorta, o tronco pulmonar, a veia cava superior,
a veia cava inferior e as veias pulmonares.
A aorta a artria mais importante do corpo humano. Ela nas-
ce no ventrculo esquerdo e leva sangue arterial do corao para
todo o corpo. J o tronco pulmonar emerge do ventrculo direito
e leva o sangue venoso do corao para os pulmes. A veia cava
superior traz o sangue venoso da parte superior do corpo, e a veia
cava inferior traz o sangue venoso da parte inferior do corpo, am-
bas desembocam no trio direito. No trio esquerdo chegam as
veias pulmonares trazendo sangue arterial dos pulmes.
6.3.5 Morfologia interna dos trios
Vamos conhecer agora a anatomia interna dos trios. Dentro do
trio direito, conforme ilustra a Figura 6.7, verifcamos a presen-
Artria
coronria
direita
Seio
coronrio
Artria
coronria
esquerda
Figura 6.6 - Os vasos sangneos prprios do corao (aa. coronrias e seio coronrio)
Aneurisma a dilatao
local das artrias devido ao
enfraquecimento de suas
paredes; perigo de ruptura
do vaso.
101 Sistema Circulatrio
a de trs stios (aberturas): a) stios das veias cavas superior e
inferior, onde desembocam as respectivas veias; e b) stio atrio-
ventricular direito, abertura que comunica o trio direito com o
ventrculo direito. No septo interatrial localiza-se uma pequena
depresso ovide conhecida como fossa oval. Verifcamos, ainda,
a crista terminal, uma elevao muscular de onde os msculos
pectneos partem em direo aurcula direita.
stio da
V.C.S.
Septo
inter-atrial
Crista
terminal
Msculos
pectneos
Msculos
pectneos
Fossa
oval
stio da
V.C.I.
Figura 6.7 - Anatomia interna do trio direito
Na parede do trio esquerdo (veja a Figura 6.8) encontramos
os stios das veias pulmonares. Nesses stios desembocam duas
veias pulmonares direitas e duas veias pulmonares esquerdas pro-
venientes dos respectivos pulmes. Uma outra abertura presente
o stio atrioventricular esquerdo, que comunica o trio esquer-
do com o ventrculo esquerdo. Alm disso, nesse trio, os ms-
culos pectneos so pouco desenvolvidos e restritos a aurcula
esquerda.
102 Sistema Circulatrio
Fossa
oval
Veias
pulmonares
Septo
inter-atrial
Septo
inter-atrial
Figura 6.8 - Anatomia interna do trio esquerdo
6.3.6 Morfologia interna dos ventrculos
A Figura 6.9 mostra que o ventrculo direito est separado
do ventrculo esquerdo pela presena do septo interventricular.
Alm disso, na parede do ventrculo direto, elevaes musculares
conhecidas como trabculas crneas esto dispostas de trs tipos.
As trabculas crneas so a ponte, as cristas e os pilares. As cristas
so apenas salincias na parede cardaca, e as pontes so salin-
cias onde apenas o corpo est afastado da parede do corao. A
trabcula septo marginal uma salincia do tipo ponte que vai
do septo interventricular at a base do msculo papilar anterior.
O terceiro tipo de trabcula so os pilares, representados pelos
msculos papilares anterior, posterior e septal.
Encontra-se no stio atrioventricular direito do lado ventricular
a valva atrioventricular direita ou tricspide. Essa valva possui
trs lminas denominadas vlvulas ou cspides (da o nome tri-
cspide). As cordas tendneas prendem as vlvulas nos msculos
103 Sistema Circulatrio
papilares. Uma outra valva presente a valva pulmonar, consti-
tuda de trs vlvulas semilunares. Ela fca na origem do tronco
pulmonar impedindo o refuxo sangneo durante o movimento
de distole (relaxamento) do ventrculo direito.
Septo
interventricular
Trabcula
septomarginal
Msculos
papilares
Trabculas
crneas
Cordas
tendneas
Valva
tricspide
Valva
pulmonar
Figura 6.9 - Morfologia interna do ventrculo direito
A Figura 6.10 ilustra, tambm, o ventrculo esquerdo separado
do ventrculo direito pela presena do septo interventricular. As
trabculas crneas possuem a mesma disposio encontrada no
ventrculo direito. Est presente no stio atrioventricular esquerdo
do lado ventricular a valva atrioventricular esquerda, bicspide
ou mitral, constituda de duas vlvulas ou cspides. As cordas ten-
dneas prendem as duas vlvulas ou cspides nos msculos papila-
res anterior e posterior, que proeminam da parede ventricular.
104 Sistema Circulatrio
A valva artica semelhante valva pulmonar, fecha o stio da
aorta por ocasio da distole (dilatao) do ventrculo esquerdo.
As valvas atrioventriculares direita e esquerda fecham durante a
sstole (contrao) dos ventrculos, evitando refuxo de sangue dos
ventrculos para os trios.
Valva
bicspide ou
mitral
Trablucas
crneas
Msculos
papilares
Cordas
tendneas
Cordas
tendneas
Figura 6.10 - Ilustrao da morfologia interna do ventrculo esquerdo
6.3.7 Sistema excitocondutor do corao
Os movimentos de contrao (sstole) e relaxamento (distole)
da parede cardaca so controlados por um sistema altamente es-
pecializado, conhecido como sistema excitocondutor ou sistema
prprio do corao. Esse sistema formado por fbras musculares
especializadas em conduzir impulsos eltricos e, ao mesmo tempo,
permite manter a freqncia cardaca entre 60 e 80 batimentos por
minuto no indivduo adulto.
105 Sistema Circulatrio
A Figura 6.11 ilustra as formaes que fazem parte do sistema
excitocondutor do corao. Elas so as seguintes: a) n sinoatrial
(sinusal), formado por um agrupamento de fbras musculares es-
pecializadas, situado prximo ao stio da veia cava superior. Ele
conhecido como o marca-passo do corao; b) feixes interno-
dais (anterior, mdio e posterior), que fazem as conexes do n
sinoatrial com o n atrioventricular; c) n atrioventricular, um
agrupamento de fbras musculares especializadas situado na por-
o inferior do septo interatrial; e d) feixe atrioventricular, cons-
titudo por um cordo de fbras musculares especializadas que se
origina do n atrioventricular e se dirige para o septo interven-
tricular, onde se divide em ramo direito e ramo esquerdo, que
vo se distribuir nos ventrculos. Esses ramos se subdividem vrias
vezes, constituindo o plexo subendocrdico.
N
sinoatrial
Feixes
internodais
Feixe
atrioventricular
Ramo ventricular
esquerdo
Ramo ventricular
direito
N
atrioventricular
Figura 6.11 - Ilustrao das formaes que constituem o sistema excitocondutor do corao
6.3.8 Esqueleto broso do corao
O corao possui um esqueleto fbroso (veja a Figura 6.12) for-
mado por anis e condensaes de tecido conjuntivo fbroso, que
106 Sistema Circulatrio
do sustentao musculatura cardaca, s valvas atrioventricula-
res, s valvas artica e pulmonar e, ainda, separam a musculatura
dos trios da dos ventrculos.
Anel broso do tronco pulmonar
Tendo do infundbulo
Anel broso da aorta
Local do feixe
atrioventricular
Anel broso do stio
atrioventricular direito
Trgono broso
direito
Trgono broso
esquerdo
Vlvula semilunar
anterior da valva do
tronco pulmonar
Vlvula semilunar
esquerda da
valva da aorta
Anel broso do
stio atrioventricular
esquerdo
Figura 6.12 - Representao esquemtica do esqueleto broso do corao
6.4 Vasos Sangneos
Dentro dos vasos sangneos (artria e veia) circulam o sangue e
a linfa. A artria um vaso sangneo que est situado, geralmen-
te, no plano profundo, por onde passa sangue (arterial ou venoso)
que vai do corao para os rgos. A veia, tambm, um tipo de
vaso sangneo que est situada no plano superfcial e profundo
por onde passa o sangue (venoso ou arterial) que vai dos rgos
para o corao. Elas so mais numerosas. No plano profundo dos
membros encontramos geralmente duas veias para uma artria.
Portanto, todo sangue que sai do corao sai por intermdio de
artrias, e todo sangue que chega ao corao chega por intermdio
de veias. J o capilar sangneo um emaranhado de pequenos
vasos infltrados no interior dos vrios rgos do corpo. Eles so
de dois tipos: arteriais e venosos.
Aterosclerose o
endurecimento das artrias;
determina grandes utuaes
entre as presses sistlica e
diastlica.
Flebite a inamao
da veia enquanto a
variz caracteriza-se pela
dilatao e pelo aumento da
tortuosidade da veia.
107 Sistema Circulatrio
6.4.1 Circulao sangnea
O corpo humano possui vrios tipos de circu-
lao sangnea. Todos os tipos so importantes e
vitais para o bom funcionamento do organismo.
Destacamos a seguir dois importantes tipos de cir-
culao sangnea: a circulao sistmica ou gran-
de circulao e a circulao pulmonar ou pequena
circulao, conforme mostra a Figura 6.13.
A circulao sistmica comea no ventrculo es-
querdo, e atravs da aorta e seus ramos, o sangue
levado para nutrir todos os rgos e os tecidos do
corpo. A seguir o sangue retorna dos rgos atravs
de veias tributrias das veias cavas para o interior do
trio direito. Ento, a circulao sistmica aquela
que ocorre entre corao/tecidos/corao.
A circulao pulmonar comea no ventrculo
direito, e atravs do tronco pulmonar e das artrias
pulmonares o sangue chega aos pulmes para ser
oxigenado. A seguir, o sangue retorna dos pulmes
pelas veias pulmonares para o trio esquerdo. Por-
tanto, a circulao pulmonar aquela que ocorre
entre corao/pulmo/corao.
6.5 Sistema Linftico
6.5.1 Generalidades e conceitos
O sistema linftico que vamos estudar a seguir
um importante sistema de drenagem auxiliar do
sistema venoso. Ele se destaca na absoro de ma-
cromolculas que no so absorvidas pelos capila-
res venosos. Alm disso, o sistema linftico produz
linfcitos que atuam na defesa do organismo. Todo
produto absorvido nos tecidos pelo sistema linftico
lanado no sistema venoso da corrente sangnea.
Pulmes
Capilares
Fgado
Ventrculo
direito
Ventrculo
direito
trio
direito
trio
direito
Ventrculo
esquerdo
Ventrculo
esquerdo
trio
esquerdo
trio
esquerdo
Sangue
Venoso
Sangue
Arterial
Figura 6.13 - Exemplos de tipos de circulao
sangnea
108 Sistema Circulatrio
No interior dos tecidos os capila-
res linfticos se juntam para formar
os vasos linfticos (veja a Figura
6.16), que so de dois tipos. Os va-
sos aferentes so os que chegam aos
linfonodos e os vasos eferentes so
os que saem dos linfonodos. Dentro
dos vasos linfticos circula o lquido
intersticial, originado no interior dos
tecidos e conhecido como linfa.
Um outro componente que faz
parte do sistema linftico o lin-
fonodo (veja a Figura 6.16). Ele
uma estrutura em forma de amn-
doa, est situado no trajeto dos va-
sos linfticos e funciona como fltro
da linfa circulante. Nos linfonodos
h os linfcitos (glbulos brancos),
clulas especializadas na defesa do
organismo.
Encontramos os linfonodos com
maior freqncia nas regies da axila, cervical, torcica, abdomi-
nal, plvica e inguinal.
6.5.2 Troncos linfticos
A seguir os vasos linfticos vo confuir (juntar-se) para cons-
tituir os troncos linfticos. Dois grandes troncos linfticos so en-
contrados no corpo humano. O primeiro tronco o ducto linftico
direito, que drena a linfa da metade direita da cabea, do pescoo,
do trax e do membro superior direito. Esse ducto desemboca na
confuncia da veia subclvia direita com a veia jugular interna
do mesmo lado. O segundo tronco o ducto torcico, que drena
a linfa da metade esquerda da cabea, do pescoo, do trax e de
todos os segmentos do corpo abaixo do diafragma. O ducto tor-
cico desemboca na juno da veia subclvia esquerda com a veia
jugular interna do mesmo lado. A Figura 6.17 mostra as reas do
corpo drenadas pelos ductos linftico direito e torcico.
Regio drenada pelo
ducto torcico
Regio drenada pelo
ducto linftico direito
Linfonodo
Vasos aferentes
Vaso
eferente
Figura 6.16 - Ilustraes dos
linfonodos e dos vasos linfticos
Figura 6.17 - Regies do corpo
humano drenadas pelos troncos
linfticos
109 Sistema Circulatrio
6.5.3 Tonsilas (amgdalas)
As tonsilas so estruturas constitudas de tecido linfide, distri-
budas na faringe e na cavidade oral. As tonsilas palatinas (tam-
bm conhecidas como amgdalas), a tonsila farngea, as tonsilas
linguais e as tonsilas tubrias constituem um anel linftico (veja
a Figura 6.18) em torno da faringe com o objetivo de proteger e
impedir a penetrao de microorganismos patognicos ao corpo.
Figura 6.18 - Ilustrao do anel linftico na faringe
6.6 rgos Hemopoiticos
O sangue do nosso corpo formado nos chamados rgos he-
mopoiticos. Esses rgos so representados pela medula ssea,
pelo bao e pelo timo.
A medula ssea a sustncia de tecido conjuntivo que fca den-
tro do canal medular dos ossos e que possui a capacidade de pro-
duzir clulas sangneas, tais como hemcias, granulcitos e pla-
quetas. Os tipos de medula ssea e a sua distribuio no esqueleto
j foram mencionados no estudo do sistema esqueltico.
Tonsila lingual
Tonsila tubria
Tonsila farngea
Tonsila palatina
(Amigdala)
110 Sistema Circulatrio
O bao (veja a Figura 6.19) um rgo linfide
associado ao Sistema Circulatrio que est situado
do lado esquerdo da cavidade abdominal, junto
9, 10 e 11 costelas. Ele um rgo responsvel
pela produo de linfcitos, anticorpos, alm de
servir de local de destruio das hemcias velhas
(hemocaterese). As hemcias possuem um tempo
de vida que varia de 80 a 120 dias. Essas hemcias
quando esto velhas so destrudas pelo bao com
o objetivo de se retirar o ferro da hemoglobina. Esse
processo de destruio das hemcias conhecido
como hemocaterese.
O timo, conforme mostra a Figura 6.20, um rgo tambm
de tecido linftico, localizado no mediastino superior, na transio
entre o pescoo e o trax. Ele responsvel pela diferenciao do
linfcito T, precursor dos anticorpos, e est relacionado com o de-
senvolvimento dos mecanismos imunolgicos nos jovens. O timo
regride, mas no chega a desaparecer completamente no adulto.
Figura 6.19 - Mostra a face
visceral do bao e a entrada e
sada de seus vasos sanguneos
Timo
Figura 6.20 - Ilustra a localizao do
timo entre o pescoo e o trax
111 Sistema Circulatrio
Resumo
Neste captulo voc estudou o Sistema Circulatrio, constitu-
do pelo sistema cardiovascular, pelo sistema linftico e pelos r-
gos hemopoiticos.
O sistema cardiovascular inclui o corao como uma bomba hi-
drulica muscular; os vasos sangneos e o sangue que circular no
interior deles formam, no conjunto, um sistema de transporte para
muitas substncias. As artrias conduzem o sangue que se afasta
do corao, e as veias conduzem o sangue em direo ao corao.
Atravs de ramos de calibre sempre decrescentes, o sangue alcan-
a os vasos capilares, vasos microscpicos que formam uma vasta
rede nos rgos e nos tecidos atravs da qual os lquidos e muitas
substncias, inclusive gases do sangue (oxignio e gs carbnico),
podem ser trocados. Os vasos capilares renem-se formando as
veias, de calibre sempre crescente, que devolvem o sangue ao cora-
o. O sangue consiste de um lquido contendo clulas vermelhas
(possui eritrcitos para transporte de gases do sangue), vrios ti-
pos de clulas brancas (leuccitos, para defesa do corpo, incluindo
linfcitos) e plaquetas (trombcitos, relacionados com a coagula-
o do sangue).
O sistema linftico auxilia o sistema venoso na drenagem dos
tecidos e na absoro de macromolculas. Ele consiste de rgos
linfides (timo, bao, tonsilas e linfonodos), que produzem linf-
citos responsveis pelo sistema de defesa do organismo.
Referncias Bibliogrcas
1) Livro Texto
CASTRO, S. V. Anatomia Fundamental. 3. ed. So Paulo: Makron
Books, 1985.
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Sistmi-
ca e Segmentar: para o estudante de Medicina. 2. ed. So Paulo:
Atheneu, 1998.
112 Sistema Circulatrio
JACOB, S. W.; FRANCONE, C. A.; LOSSOW, W. J. Anatomia e
Fisiologia Humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan,
1982.
MORRE, K. L.; DALLEY, A. R. Anatomia: orientada para a clni-
ca. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2001.
SNELL, R. S. Anatomia clnica para estudantes de Medicina. 5.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2000.
SPENCE, A. P. Anatomia Humana Bsica. 2. ed. So Paulo: Ma-
nole, 1991.
2) Livro Atlas
KHALE, W.; LEONHARDT, H.; PLATZER, W. Atlas de Anato-
mia Humana. So Paulo: Livraria Atheneu, 1988. v. 1-2.
NETTER, H. F. Atlas de Anatomia Humana. 8. ed. Porto Alegre:
Artes Mdicas, 1966. v. 1.
ROHEN, J. W.; YOKOCHI, C. Atlas fotogrfco de Anatomia Sis-
tema e Regional. So Paulo: Manole, 1989.
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 20. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1995. v. I-II.
C
A
P
T
U
L
O
7
C
A
P
T
U
L
O
7
Sistema Digestrio
De uma simples mordida em uma ma at a sua de-
composio ocorre um processo cheio de etapas que dizem
respeito ao Sistema Digestrio. Neste captulo voc entrar
em contato com esse importante sistema, podendo ao fnal
conceitu-lo e descrev-lo conforme sua anatomia macros-
cpica, citando seus limites, dimenses, contedos e funes
das partes do tubo digestrio. Ser capaz de conceituar as
glndulas anexas do Sistema Digestrio e descrever a locali-
zao, a morfologia externa e a funo. Compreender a for-
mao anatmica e poder descrev-la, assim como o trajeto
das vias biliares e pancreticas. Ter agregado o conceito de
peritnio e poder identifcar a anatomia macroscpica das
partes constituintes do Sistema Digestrio.
117 Sistema Digestrio
7.1 Generalidades, Conceitos e Diviso
O Sistema Digestrio caracteriza-se como um conjunto de r-
gos responsveis pela apreenso, mastigao, deglutio, diges-
to, absoro e eliminao dos resduos em forma de fezes.
O Sistema Digestrio est disposto em forma
de um tubo por onde passa o bolo alimentar. O
tubo digestrio recebe o produto de secreo das
glndulas anexas que vo auxiliar na digesto dos
alimentos. Alm disso, ele um sistema aberto
que permite a eliminao dos resduos no apro-
veitveis pelo organismo.
Podemos dividir o Sistema Di-
gestrio no tubo digestrio e nas
glndulas anexas. Veja na Figura
7.1 o desenho esquemtico do Sis-
tema Digestrio. Note que o tubo
digestrio composto de uma se-
qncia de rgos tubulares por
onde passa o alimento. rgos
como a boca, faringe, esfago, es-
tmago, intestinos, canal anal e
nus fazem parte do tubo diges-
trio, e rgos como as glndulas
salivares, o fgado e o pncreas so
glndulas anexas do Sistema Di-
gestrio, cujas secrees auxiliam
na digesto alimentar.
Boca
Esfago
Fgado
Pncreas
Estmago
Intestinos
Figura 7.1 - Desenho esquemtico da disposio do Sistema Digestrio
118 Sistema Digestrio
7.2 Tubo Digestrio
7.2.1 Boca e cavidade oral
A boca a abertura que fca na face entre o lbio superior e o
lbio inferior. a poro inicial do tubo digestrio onde ocorre a
apreenso, a mastigao e a deglutio do bolo alimentar. na cavi-
dade oral o local onde se inicia o processo de digesto alimentar.
A cavidade oral pode ser dividida em duas partes distintas: o
vestbulo e a cavidade bucal propriamente dita.
O vestbulo corresponde regio
da cavidade oral anterior gengiva
e s arcadas dentrias, enquanto a
cavidade oral propriamente dita
compreende a regio situada in-
ternamente aos dentes e arcada
dentria. A lngua est dentro da
cavidade oral propriamente dita.
Fazem parte dos limites da cavi-
dade oral (veja a Figura 7.2) as se-
guintes estruturas: os lbios fazem
o limite anterior, o istmo das fau-
ces faz o limite posterior, as boche-
chas fazem o limite lateral, os pa-
latos (duro e mole) fazem o limite
superior e o msculo milo-hiide
corresponde ao limite inferior (as-
soalho) da cavidade oral.
7.2.2 Lngua
A lngua um rgo muscular situado na cavidade oral propria-
mente dita. Ela importante para o transporte dos alimentos para
a faringe, alm de participar na gustao e na fonao.
A face superior da lngua chamada de dorso da lngua. O dorso
apresenta uma depresso em forma de V conhecida como sulco
terminal, que divide a lngua em duas pores, conforme mostra a
Lbio superior
Lbio inferior
Vestbulo
da boca
Istmo das
fauces
Cavidade bucal
propriamente dita
Palato duro
Palato mole
{
Figura 7.2 - Ilustrao dos limites da cavidade oral
119 Sistema Digestrio
Figura 7.3. Os dois teros anteriores ao
sulco terminal correspondem ao corpo
da lngua (parte mvel), e o tero pos-
terior ao sulco terminal corresponde
raiz da lngua (parte fxa).
No dorso da lngua encontram-se
as papilas linguais, que se projetam
na mucosa de revestimento da lngua.
Distinguimos, no dorso da lngua, qua-
tro tipos de papilas linguais. As papi-
las fliformes, fungiformes, foleadas e
valadas, que esto relacionadas com os
seguintes sabores: doce, salgado, cido
(azedo) e amargo, respectivamente.
7.2.3 Dentes
Os dentes so rgos esbranquiados consti-
tudos de tecido mineralizado, dispostos em arco
no interior da cavidade oral. Eles esto fxados nos alvolos dent-
rios da maxila e da mandbula.
Em cada dente, conforme ilustra a Figura 7.4, distinguem-se
trs partes: a coroa, poro visvel do dente, a raiz, poro do den-
te inclusa no alvolo dentrio, e o colo, poro estreitada entre a
coroa e a raiz.
O indivduo adulto possui 32 dentes: 8 incisivos, 4 caninos, 8
pr-molares e 12 molares. A Figura 7.5 mostra as caractersticas
morfolgicas dos grupos dentais.
incisivos (I): so dentes que tm a coroa em forma de p com
a funo de incidir ou cortar os alimentos.
caninos (c): so dentes que tm a coroa em forma de ponta-
de-lana com a funo de rasgar os alimentos.
pr-molares (PM): so dentes cuja coroa em forma de mesa
antecede os molares com a funo de triturar os alimentos.
molares (M): so dentes cuja coroa em forma de mesa ou de pe-
dra-de-moinho (m) com a funo de macerar os alimentos.
Sulco
terminal
Papilas valadas
Papilas foleadas
Papilas liformes
Papilas
fungiformes
Figura 7.3 - A gura mostra as
partes da lngua
Coroa
Colo
Raiz
Figura 7.4 - Desenho
esquemtico mostrando as
partes do dente
120 Sistema Digestrio
Figura 7.5 - Desenho esquemtico das caractersticas dos dentes
7.2.4 Faringe
A faringe (veja a Figura 7.6) um rgo tubular e muscular que
mede aproximadamente 12cm de comprimento, estendendo-se da
base do crnio at o nvel da cartilagem cricide, no pescoo. Ela
revestida internamente por mucosa e est situada posteriormente
cavidade nasal, cavidade oral e laringe. Passam atravs da faringe
o bolo alimentar e o ar que inspiramos. Do ponto de vista ana-
tmico e funcional, a faringe pertence aos sistemas digestrio e
respiratrio.
Divide-se a faringe em trs pores: a nasofaringe, regio si-
tuada posteriormente cavidade nasal e que se comunica com a
orelha mdia atravs das tubas auditivas; a orofaringe, regio pos-
terior cavidade oral, e a laringofaringe, regio situada posterior-
mente laringe e inferiormente orofaringe.
Portanto, a faringe se comunica com as cavidades nasal, oral e
laringe. Observem, ento, que a nasofaringe se comunica com a
cavidade nasal atravs das canas, a orofaringe se comunica com
a cavidade oral atravs do istmo das fauces e a laringofaringe se
comunica com a laringe atravs do dito da laringe.
Incisivos centrais
Incisivos laterais
Arcada superior Arcada inferior
Caninos
1
os
pr-molares
2
os
pr-molares
1
os
molares
2
os
molares
3
os
molares
121 Sistema Digestrio
Figura 7.6 - Representao esquemtica da faringe mostrando as suas comunicaes
7.2.5 Esfago
O esfago (veja a Figura 7.7) um rgo tbulo-muscular que
mede em torno de 40cm de comprimento. Ele liga a faringe ao
estmago e por ele o bolo alimentar chega ao estmago. O esfago
apresenta-se dividido em trs pores: a cervical, a torcica e a
abdominal, que esto situadas no pescoo, no trax e no abdome,
respectivamente. Dessas trs partes, a poro abdominal a mais
curta ao passo que a poro torcica a mais longa.
Nasofaringe
Orofaringe
Laringofaringe
(hipofaringe)
Traquia
Esfago
Coana
Istmo das
fauces (garganta)
dito da laringe
Traquia
Esfago
Figura 7.7 - Desenho esquemtico
do esfago
122 Sistema Digestrio
7.2.6 Estmago
O estmago a dilatao do tubo digestrio entre o esfago e
o intestino delgado. Localiza-se na parte superior da cavidade ab-
dominal, logo abaixo do msculo diafragma. O estmago tem a
forma de uma letra J e possui capacidade de armazenar at um
litro e meio de alimento.
Dois stios (aberturas)
esto presentes no estma-
go, o stio crdico na jun-
o com o esfago e o stio
pilrico na juno com o
duodeno.
O estmago apresenta
uma face anterior voltada
para frente e uma face pos-
terior voltada para a parede
posterior do abdome. Duas
curvaturas esto presen-
tes nesse rgo. A curva-
tura menor fca direita
e a curvatura maior fca
esquerda.
Podemos identifcar (veja a Figura 7. 8) quatro partes consti-
tuindo o estmago:
a crdia, entrada do estmago; 1.
fundo, poro que fica acima de um plano transversal que pas- 2.
sa no nvel da crdia;
corpo, parte entre o fundo e a parte pilrica; e 3.
parte pilrica, parte terminal do estmago. 4.
Na parte pilrica do estmago encontra-se o esfncter pilrico
(esfncter anatmico), constitudo de fbras musculares circulares
que controlam o esvaziamento gstrico e evitam o refuxo do con-
tedo duodenal para o estmago.
Esfago
Crdia
Fundo
Corpo
Curvatura
maior
Curvatura
menor
Piloro
Duodeno
Msculo
Msculo longitudinal
do esfago
Figura 7.8 - Representao
da morfologia externa do
estmago
123 Sistema Digestrio
7.2.7 Intestinos
um tubo muscular situado aps o estmago. Esse tubo apre-
senta uma poro mais longa, porm de calibre mais fno, que re-
cebe o nome de intestino delgado, o qual seguido por uma por-
o mais calibrosa denominado intestino grosso.
O intestino delgado (veja a Figura 7.9) um tubo de aproxi-
madamente 7m de comprimento que liga o estmago ao intestino
grosso. Essa parte do intestino est envolvida com a digesto e a
absoro alimentar. Alm disso, ele possui duas pores bem dis-
tintas, o duodeno e o jejunoleo.
Figura 7.9 - Desenho esquemtico do intestino delgado
Jejuno
leo
Duodeno
124 Sistema Digestrio
O duodeno corresponde poro inicial do intestino delgado.
Mede 25cm de comprimento, possui o formato de uma letra C
que abraa a cabea do pncreas. As papilas duodenais maior
e menor so duas aberturas no duodeno onde se abrem os
ductos coldoco e pancretico principal e o ducto pancretico
acessrio respectivamente, trazendo a bile e o suco pancretico
para atuarem na digesto alimentar.
O jejunoleo representa a poro terminal do intestino delgado.
Mede aproximadamente 6m de comprimento. Ele comea na jun-
o duodenojejunal e termina na juno ileocecoclica. O jejuno
mais vascularizado que o leo e geralmente se encontra vazio. Essas
so caractersticas que diferenciam o jejuno do leo no vivente.
O intestino grosso um tubo muscular de aproximadamente
1,5m de comprimento que liga o intestino delgado ao nus. Al-
gumas caractersticas morflogas como as tnias, os haustros e os
apndices omentais so encontrados somente no intestino grosso.
As tnias so faixas musculares que esto condensadas longitudi-
nalmente na parede externa do intestino grosso, os haustros so
saculaes do intestino grosso e os apndices omentais so mas-
sas de tecido adiposo que se projetam na superfcie dos colos.
Podemos distinguir seis pores constituindo o intestino grosso,
conforme mostra a Figura 7.10. Essas pores so as seguintes:
clon ascendente: 1. a poro que ascende direita do abdome.
O ceco a parte inicial do colo ascendente, onde se localiza o
apndice vermiforme e a valva ileocecal;
clon transverso: 2. a parte que est disposta transversalmente
no abdome, logo aps a curvatura descrita pelo colo ascenden-
te chamada de flexura clica direita;
clon descendente: 3. a poro que est do lado esquerdo do
abdome, logo aps a curvatura descrita pelo colo transverso
denominado de flexura clica esquerda;
clon sigmide: 4. a continuao do colo descendente, em for-
ma de S;
reto 5. : a seqncia do colo sigmide; e
canal anal: 6. a poro terminal do intestino grosso.
Apendicite um processo
inamatrio do apndice
vermiforme.
125 Sistema Digestrio
7.3 Glndulas Anexas
As glndulas anexas so representadas pelas glndulas salivares,
pelo fgado, pela vescula biliar e pelo pncreas, cujas secrees
auxiliam na digesto do alimento.
Apndices
epiplicos
Flexura Clica
Direita
Flexura Clica
Esquerda
Haustraes
Haustraes
leo
Reto
Canal Anal
Clon sigmide
Clon
Transverso
Clon
Descendente
Clon
Ascendente
Ceco
Apndice
vermiforme
Tnia
Figura 7.10 - Representao
esquemtica das pores do
intestino grosso
126 Sistema Digestrio
7.3.1 Glndulas salivares
A digesto alimentar comea na boca
pela ao de enzimas secretadas pelas
glndulas salivares para dentro da cavida-
de oral. As glndulas salivares (veja a Fi-
gura 7.11) so de dois tipos: as glndulas
salivares menores, que compreendem as
labiais (situadas nos lbios), as vestibu-
lares (situadas no vestbulo da boca) e as
palatinas (situadas no palato); e as gln-
dulas salivares maiores, que correspon-
dem as partidas (localizadas na face), as
submandibulares e as sublinguais.
7.3.2 Fgado e vescula biliar
A maior glndula do organismo o fgado, pesa em torno de
1,5kg, e a sua maior poro est situada na regio superior direita
do abdome, logo abaixo do msculo diafragma.
O fgado apresenta duas fases: uma diafragmtica e a outra
visceral. A face diafragmtica convexa, lisa e est em contato
com a cpula do diafragma. Por outro lado, a face visceral cn-
cava pela presena das impresses viscerais.
Podemos identifcar quatro lobos compondo o fgado: (1) lobo
direito; (2) lobo esquerdo; (3) lobo caudado; e (4) lobo quadra-
do, conforme mostra a Figura 7.12.
Na face diafragmtica, o lobo direito e o lobo esquerdo do f-
gado esto separados pelo ligamento falciforme, enquanto na face
visceral o lobo caudado (situado superiormente) e o lobo quadra-
do (situado inferiormente) fcam entre os lobos direito e esquerdo
do fgado.
Sistema excretor do fgado
A bile produzida pelo fgado levada por intermdio de um
sistema excretor at o duodeno para atuar na digesto alimentar,
conforme representa a Figura 7.13. Esse sistema excretor forma-
do pelos ducto heptico direto (drena a bile do lobo direito) e
Glndulas labiais,
vestibulares e palatinas
Glndula
sublingual
Glndula
submandibular
Glndula
partida
Figura 7.11 - A gura mostra
a localizao das glndulas
salivares
Cirrose heptica a
inamao crnica do
fgado que pode resultar na
reduo da bile produzida,
na reduo da excreo dos
pigmentos biliares, na reduo
da produo de fatores de
coagulao do sangue e
no acmulo de toxinas no
sangue.
127 Sistema Digestrio
ducto heptico esquerdo (drena a bile do lobo esquerdo), que se
juntam para constituir o ducto heptico comum. O ducto cstico,
que sai da vescula biliar, une-se ao ducto heptico comum para
formar o ducto coldoco. Este, por sua vez, une-se ao ducto pan-
cretico principal (que vem do pncreas) para formar a ampola
hepatopancretica, que desemboca na papila duodenal maior, si-
tuada na segunda poro do duodeno.
Figura 7.12 - Ilustrao da diviso do fgado em lobos
Lobo Direito
Lobo Esquerdo
Lobo Caudado
Lobo Esquerdo
Lobo Direito
Lobo Quadrado
Vescula Biliar
Papila
duodenal maior
Ducto
coldoco
Vescula
biliar
Ducto
cstico
Ducto heptico
direito
Ducto heptico
esquerdo
Ducto
heptico
comum
Ducto
pancretico
Segunda poro
do duodeno
}
Clculos na vescula so
partculas contendo colesterol
e sais biliares, podendo
bloquear o ducto cstico ou o
ducto coldoco.
Figura 7.13 - A gura mostra o sistema
excretor do fgado
128 Sistema Digestrio
7.3.3 Pncreas
O pncreas uma glndula de secreo mista situado junto
parede posterior da cavidade do abdome. Ele apresenta uma por-
o endcrina responsvel pela secreo de insulina e glucagon
e uma outra poro excrina que secreta suco pancretico. A in-
sulina e o glucagon so lanados na corrente sangnea, e o suco
pancretico lanado no duodeno.
O pncreas, como ilustra a Figura 7.14, tem forma piramidal
alongada. Apresenta uma cabea abraada pelo duodeno, um cor-
po que representa sua maior poro, um colo que liga a cabea ao
corpo e uma cauda que sua extremidade aflada.
Do pncreas sai o ducto pancretico principal, que se une ao
ducto coldoco para desembocar no duodeno. O ducto pancre-
tico acessrio, quando est presente, desemboca na papila duode-
nal menor do duodeno.
Figura 7.14 - Representao da morfologia do pncreas
Duodeno
Ducto Coldoco
Ducto Pancretico
Principal
Cabea
Colo
Corpo
Cauda
Ducto Pancretico
Acessrio
129 Sistema Digestrio
7.4 Peritnio
O peritnio uma membrana serosa que reveste
a parede do abdome e a seguir se refete para envol-
ver as vsceras abdominais. O peritnio que reveste
a parede do abdome chamado de lmina parietal,
e o peritnio que reveste as vsceras denominado
de lmina visceral. A cavidade peritonial, por sua
vez, o espao que fca entre as lminas parietal e
visceral do peritnio. A cavidade peritonial contm
lquido peritonial e fca contida na cavidade abdo-
minal (veja a Figura 7.15).
Resumo
O Sistema Digestrio um conjunto de rgos
responsveis pela apreenso, mastigao, degluti-
o, digesto, absoro dos alimentos e eliminao
dos resduos na forma de fezes. Divide-se o Siste-
ma Digestrio em: tubo digestrio (boca, faringe,
esfago, estmago, intestinos, canal anal e nus)
e glndulas anexas (glndulas salivares, fgado e
pncreas).
O processo de digesto alimentar comea na ca-
vidade oral por ao das glndulas salivares aps o
alimento ser triturado pelos dentes. A seguir o bolo
alimentar atravessa a faringe e o esfago para atin-
gir o estmago, onde os alimentos so reduzidos antes de chegar
ao duodeno. No duodeno a massa de consistncia mole (quimo)
sofre a ao da bile e do sulco pancretico, os quais so reduzidos
em molculas mais simples para serem absorvidos no jejuno. A
partir da, os resduos alimentares no aproveitveis pelo organis-
mo so eliminados na forma de fezes pelo intestino grosso.
Alm das vrias glndulas situadas na parede do tubo digest-
rio, h glndulas bem maiores fora do trato. As secrees dessas
glndulas, que so muito importantes na digesto dos alimentos,
Figura 7.15 - A gura mostra um corte sagital do
abdome ilustrando a disposio do peritnio (em
vermelho)
130 Sistema Digestrio
so levadas ao tubo digestrio por meio de ductos. Essas glndulas
incluem as glndulas salivares, o pncreas e o fgado.
Referncias Bibliogrcas
1) Livro Texto
CASTRO, S. V. Anatomia Fundamental. 3. ed. So Paulo: Makron
Books, 1985.
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Sistmi-
ca e Segmentar: para o estudante de Medicina. 2. ed. So Paulo:
Atheneu, 1998.
JACOB, S. W.; FRANCONE, C. A.; LOSSOW, W. J. Anatomia e
Fisiologia Humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan,
1982.
KHALE, W.; LEONHARDT, H.; PLATZER, W. Atlas de Anato-
mia Humana. So Paulo: Livraria Atheneu, 1988. v. 1-2.
MORRE, K. L.; DALLEY, A. R. Anatomia: orientada para a clni-
ca. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2001.
SNELL, R. S. Anatomia clnica para estudantes de Medicina. 5.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2000.
SPENCE, A. P. Anatomia Humana Bsica. 2. ed. So Paulo: Ma-
nole, 1991.
2) Livro Atlas
NETTER, H. F. Atlas de Anatomia Humana. 8. ed. Porto Alegre:
Artes Mdicas, 1966. v. 1.
ROHEN, J. W.; YOKOCHI, C. Atlas fotogrfco de Anatomia Sis-
tema e Regional. So Paulo: Manole, 1989.
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 20. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1995. v. I-II.
C
A
P
T
U
L
O
8
C
A
P
T
U
L
O
8
Sistema Respiratrio
Voc j pensou sobre a importncia da ao de respirar?
A nossa existncia depende de uma troca de gases com o ar
atmosfrico. O Sistema Respiratrio assegura a concentra-
o de oxignio no sangue necessria para as reaes meta-
blicas. Este captulo lhe apresentar o Sistema Respiratrio
sob os pontos de vista anatmico e funcional, e voc poder
ento citar as partes que constituem a poro condutora do
Sistema Respiratrio. Conhecendo as partes e os rgos que
constituem a poro condutora e respiratria, bem como a
mecnica respiratria, voc ser capaz de descrever e iden-
tifcar a anatomia macroscpica das estruturas constituintes
do sistema.
135 Sistema Respiratrio
8.1 Generalidades e Conceitos
O Sistema Respiratrio tem por fnalida-
de oferecer ao organismo a troca de gases
com ar atmosfrico, assegurando no san-
gue uma concentrao de oxignio (O
2
) ne-
cessria para as reaes metablicas, e em
contrapartida serve para a eliminao de
gs carbnico (CO
2
). Alm dessa funo, o
Sistema Respiratrio contribui tanto para a
fonao como para a olfao.
Conceituamos o Sistema Respiratrio
como um conjunto de rgos responsveis
em promover a respirao pulmonar. A res-
pirao consiste num processo de oxidao
celular que ocorre no nvel dos alvolos pul-
monares, conhecido como hematose.
Identifcamos duas pores compondo o
Sistema Respiratrio: (1) poro conduto-
ra e (2) poro respiratria (veja a Figura
8.1). A poro condutora compreende: na-
riz (nariz externo e cavidade nasal), faringe,
laringe, traquia, brnquios e bronquolos;
e a poro respiratria corresponde aos
pulmes (ductos alveolares e alvolos) en-
volvidos pela pleura.
Faringe
Laringe
Brnquios
Pulmes
Traquia
Nariz
Cavidade
Nasal
Faringe
Laringe
Brnquios
Pulmes
Traquia
Nariz
Cavidade
Nasal
Figura 8.1 - A gura mostra as pores condutora e respiratria
do Sistema Respiratrio
136 Sistema Respiratrio
8.2 Poro Condutora
Estudaremos a seguir a poro condutora do Sistema Respirat-
rio que compreende: nariz (nariz externo e cavidade nasal), farin-
ge, laringe, traquia, brnquios e bronquolos.
8.2.1 Nariz
O nariz a poro inicial do sistema con-
dutor. A sua poro externa est situada no
plano mediano da face e denominada de
nariz externo, e a sua parte interna chama-
da de cavidade nasal.
O nariz externo (veja a Figura 8.2) tem a
forma de uma pirmide de base inferior. O
pice corresponde ponta do nariz, a raiz
a parte superior da pirmide, o dorso a
parte que vai do pice at a raiz do nariz e as
narinas so as aberturas do nariz.
A cavidade nasal, parte interna do nariz,
possui uma regio situada logo aps a narina
denominada vestbulo. As conchas nasais superior, mdia e infe-
rior so trs salincias sseas revestidas de mucosas junto parede
lateral da cavidade nasal. Abaixo das conchas correspondentes, h
espaos chamados de meatos. H, portanto, trs, o superior, o m-
dio e o inferior.
Separando a cavidade nasal (veja a Figura 8.3) em dois compar-
timentos, um direito e outro esquerdo, encontra-se uma estrutura
de constituio osteocartilaginosa, o septo nasal.
As coanas, orifcios de comunicao com a nasofaringe, mar-
cam o limite posterior das cavidades nasais.
Revestindo as conchas nasais (superior, mdia e inferior) e o
septo nasal encontram-se dois tipos de mucosas: (1) a mucosa
olfatria e (2) a mucosa respiratria. A mucosa olfatria reveste
a concha nasal superior, enquanto as conchas nasais mdia e infe-
rior so revestidas de mucosa respiratria.
Raiz
Dorso
pice
Narina
Asa
Figura 8.2 - Morfologia externa
do nariz
137 Sistema Respiratrio
8.2.2 Seios paranasais
Os seios paranasais so cavidades intra-sseas revestidas de mu-
cosa respiratria encontradas em alguns ossos da cabea, os quais
esto situados em torno da cavidade nasal. Encontram-se essas
cavidades nos ossos pneumticos prximos da cavidade nasal.
Elas contm ar no seu interior e se comuni-
cam com a cavidade nasal.
A Figura 8.4 apresenta os seios parana-
sais encontrados nos ossos: (1) frontal (seio
frontal); (2) maxilar (seio maxilar); (3)
esfenide (seio esfenoidal); e (4) etmide
(clulas etmoidais).
Seio frontal
Concha nasal
superior
Meato nasal
superior
Concha nasal
mdia
Meato nasal
mdia
Concha nasal
inferior
Meato nasal
inferior
Vestbulo
Faringe
Coana
Palato duro Palato mole
Figura 8.3 - A gura ilustra as conchas nasais com os respectivos meatos na cavidade nasal
Processos inamatrios nessas
cavidades so conhecidos
comumente como sinusite.
Seio
Frontal
Seio
Esfenoidal
Seios
Maxilares
Seios
Etmoidais
Figura 8.4 - A gura mostra os ossos pneumticos em torno da
cavidade nasal
138 Sistema Respiratrio
8.2.3 Faringe
A faringe um canal comum aos sistemas digestrio e respi-
ratrio e comunica-se com as cavidades nasais, a cavidade oral e
a cavidade da laringe. O ar inspirado pelas narinas ou pela boca
passa necessariamente pela faringe antes de atingir a laringe.
Veja mais detalhes sobre a faringe no item 7.2.5 do captulo an-
terior referente ao contedo do Sistema Digestrio.
8.2.4 Laringe
A laringe um tubo cartilaginoso situado entre a faringe e a tra-
quia. Alm da passagem do ar, desempenha importante funo
na fonao.
O esqueleto cartilaginoso da laringe (veja a Figura 8.5) com-
preende: cartilagens mpares e cartilagens pares. So cartilagens
mpares: a epiglote, a tireide e a cricide. A epiglote tem a for-
ma de uma folha vegetal que fecha o dito (entrada) da laringe
para evitar a penetrao de resduo alimentar; a tireide consti-
Face anterior
Epiglote
Osso hiide
Cartilagem corniculada
Cartilagem aritenide
Cartilagem tireide
Cartilagem cricide
Face posterior
Figura 8.5 - Desenho
esquemtico das cartilagens
mpares e pares da laringe
139 Sistema Respiratrio
tuda de duas lminas que se encontram na linha mediana do pes-
coo, formando uma salincia chamada de proeminncia larngea
(pomo-de-Ado); e a cricide uma cartilagem em forma de anel
que se localiza inferiormente tireide.
So cartilagens pares as aritenides, as corniculadas e as
cuneiformes. As aritenides tm a forma de uma pirmide trian-
gular e esto apoiadas sobre a cartilagem cricide; as cornicula-
das tm a forma cnica, localizam-se logo acima (superior) das
cartilagens aritenides; as cartilagens cuneiformes, em forma de
cunha, localizam-se anteriormente s cartilagens corniculadas.
A laringe possui na sua estrutura msculos intrnsecos e extrn-
secos que movimentam a prpria laringe durante a deglutio e a
fonao.
Cavidade da laringe
A cavidade da laringe (veja a Figura 8.6) se estende do dito
(entrada) da laringe at a cartilagem cricide. Nas paredes late-
rais da cavidade encontram-se
dois espaos em forma de canoa
chamados de ventrculos. Cada
ventrculo fca entre a prega
vestibular (situada superior-
mente) e a prega vocal (situada
inferiormente). O espao entre
o dito da laringe e a prega ves-
tibular denominado vestbulo.
J a cavidade infragltica o
espao entre a prega vocal e a
cartilagem cricide. Portanto,
podemos ainda defnir glote
como a regio que compreende
as duas pregas vocais.
Figura 8.6 - Desenho esquemtico das
estruturas da cavidade da laringe
Vestbulo
Prega vestibular
Ventrculo
Epiglote
dito da laringe
Prega vocal (corda)
Cartilagem cricide
Traquia
Cavidade infra-gltica
140 Sistema Respiratrio
8.2.5 Traquia
A traquia (veja a Figura 8.7) um tubo cartilaginoso que se
estende da laringe at a sua diviso em dois brnquios principais.
Ela formada por 20 anis traqueais de cartilagem hialina em
forma de letra C fechados posteriormente pelo msculo traqueal.
Os anis traqueais esto unidos por ligamentos fbrosos chamados
ligamentos anulares. Na bifurcao da traquia, encontra-se a ca-
rina, relevo em forma de quilha formado pelo ltimo anel traque-
al. No pescoo e no trax a traquia encontra-se anteriormente ao
esfago.
Figura 8.7 - A gura mostra a constituio da traquia
Anel traqueal
Anis traqueais
Ligamentos
anulares
Parede posterior
Parede anterior
Msculo traqueal
Msculo esofgico
Brnquios principais
141 Sistema Respiratrio
8.2.6 Brnquios
Os brnquios so estruturas tubulares com anis de cartilagem
hialina em suas paredes. Eles fazem a conexo da traquia com os
pulmes.
Na extremidade inferior, a traquia divide-se em dois brn-
quios, conforme mostra a Figura 8.8: o brnquio principal direi-
to e o brnquio principal esquerdo. Cada brnquio destinado
ao respectivo pulmo. Observe agora que cada brnquio principal
divide-se em unidades menores, os brnquios lobares, destinados
aos lobos pulmonares. A seguir, os brnquios lobares se subdivi-
dem em unidades menores, os brnquios segmentares, destina-
dos aos segmentos pulmonares.
Figura 8.8 - Ilustrao da diviso dos brnquios
8.2.7 Bronquolos
Os bronquolos (veja a Figura 8.9) so divises menores dos
brnquios segmentares. Em cada segmento pulmonar (diviso
dos lobos do pulmo), no parnquima do pulmo, os bronquolos
dividem-se em bronquolos terminais, que a seguir se subdivi-
dem em bronquolos respiratrios. Fazem parte da estrutura dos
Brnquio principal direito
Brnquio principal esquerdo
Brnquio segmentar
Brnquio lobar
142 Sistema Respiratrio
bronquolos respiratrios os alvolos pulmonares, estruturas
responsveis pelas trocas gasosas.
8.3 Poro Respiratria
Estudaremos a seguir a poro respiratria do Sistema Res-
piratrio, que compreende os pulmes (ductos alveolares e al-
volos), envolvidos pela pleura.
8.3.1 Pulmo
Os pulmes so rgos pares, em forma de pirmide, que
esto situados de cada lado da coluna vertebral, repousando
sobre o diafragma na cavidade torcica. O pulmo direito
maior e mais largo que o pulmo esquerdo. Eles so rgos res-
ponsveis pela hematose (troca gasosa).
O pulmo possui na sua morfologia externa um pice su-
perior, uma base inferior e trs faces. A face costal do pulmo
est em contato com as costelas, a face mediastinal est volta-
da para o mediastino e a face diafragmtica est apoiada sobre
o msculo diafragma.
Cada pulmo (veja a
Figura 8.10) est dividido
por fssuras em comparti-
mentos chamadas lobos.
O pulmo direito possui
as fssuras horizontal e
oblqua, que o dividem
em trs lobos (superior,
mdio e inferior), e o
pulmo esquerdo possui
a fssura oblqua entre os
lobos superior e inferior.
Bronquolo
Bronquolo
terminal
Bronquolo
respiratrio
Alvolo
pulmonar
Figura 8.9 - Representao
esquemtica da diviso dos
bronquolos
pice
Base
Lobo superior
Lobo superior
Lobo inferior
Lobo inferior
Fissuras oblquas
Fissura
horizontal
Lobo
mdio
Pulmo direito Pulmo esquerdo
Figura 8.10 - A gura ilustra a
morfologia externa dos pulmes
143 Sistema Respiratrio
8.3.2 Pleura
A pleura (veja a Figura 8.11) uma membrana serosa que forra
internamente a parede do trax e a seguir se refete para envol-
ver os pulmes. A pleura que forra a parede do trax chamada
pleura parietal e a que reveste os pulmes denominada pleura
visceral. O espao entre elas a cavidade pleural. Essa cavidade
contm uma pequena quantidade de lquido pleural que lubrifca
as pleuras parietal e visceral e, assim, evita o atrito entre elas.
Viso frontal Viso superior
Pleura
parietal
Pulmo
Vrtebra
Corao
Pleura
visceral
Cavidade
pleural
Figura 8.11 - Desenho esquemtico da pleura
8.4 Mecnica Respiratria
A mecnica respiratria compreende as vrias etapas que vo
desde o condicionamento do ar, os movimentos da caixa torcica,
a contrao do m. diafragma at a ao da prensa abdominal.
O condicionamento do ar que inspiramos ocorre dentro da ca-
vidade nasal. dentro da cavidade nasal que ocorre a fltrao, o
144 Sistema Respiratrio
aquecimento e o umedecimento do ar. A seguir, a caixa torcica se
movimenta durante a respirao, realizando dois movimentos: (1)
no movimento de ala de balde ocorre um aumento do dimetro
transverso (veja a Figura 8.12) do trax devido elevao das cos-
telas durante a inspirao; e (2) no movimento de brao de bomba
ocorre um aumento do dimetro (veja a Figura 8.12) ntero-poste-
rior do trax devido elevao e projeo anterior do esterno du-
rante a inspirao. Outro dimetro que tambm aumenta durante a
inspirao o dimetro longitudinal (veja a Figura 8.12) do trax,
que ocorre devido contrao do diafragma em sentido inferior.
Na ao da prensa abdominal ocorre a contrao da mus-
culatura da parede do abdome, o diafragma empurrado para
cima, diminuindo, assim, todos os dimetros do trax durante a
expirao.
Dimetro
Longitudinal
Dimetro
Transversal
Dimetro
Longitudinal
Dimetro
ntero-posterior
Dimetro
ntero-posterior
Dimetro
Transversal
Diafragma
Diafragma
Diafragma
Diafragma
Posio de inspirao
Posio de expirao
Inspirao
Movimento de ar para
dentro dos pulmes.
Expirao
Movimento de ar para fora
dos pulmes em direo
atmosfera.
Figura 8.12 - Ilustraes dos
dimetros do trax
145 Sistema Respiratrio
Resumo
Neste captulo voc estudou o Sistema Respiratrio respons-
vel em promover a respirao pulmonar conhecida como hemato-
se. Esse sistema consiste de uma poro condutora e uma poro
respiratria.
O Sistema Respiratrio, alm do suprimento de oxignio e da re-
moo de dixido de carbono, tambm torna possvel a vocalizao.
A troca de oxignio e de dixido de carbono entre o ar e o sangue
ocorre nos pulmes. Para alcanar os locais de troca nos pulmes,
o ar passa atravs de uma srie de canais que derivam um do outro
como os ramos de uma rvore. O ar que penetra no nariz ou pela
boca passa pela faringe e converge para os pulmes pela traquia,
que forma um ramo um brnquio para cada pulmo. No pul-
mo cada brnquio se divide sucessivamente em tbulos menores,
chamados bronquolos, e fnalmente terminam em pequenos sacos
areos chamados alvolos, onde ocorrem as trocas gasosas.
Uma membrana serosa reveste a parede do trax (pleura parie-
tal) e a seguir se refete para envolver os pulmes (pleura visce-
ral). Entre as duas pleuras fca a cavidade pleural, que contm o
lquido pleural.
A mecnica respiratria corresponde todo o processo que vai
desde o condicionamento do ar (na cavidade nasal), os movi-
mentos da caixa torcica (ala de balde e brao de bomba), a con-
trao do diafragma e a ao da prensa abdominal.
Referncias Bibliogrcas
1) Livro Texto
CASTRO, S. V. Anatomia Fundamental. 3. ed. So Paulo: Makron
Books, 1985.
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Sistmi-
ca e Segmentar: para o estudante de Medicina. 2. ed. So Paulo:
Atheneu, 1998.
146 Sistema Respiratrio
JACOB, S. W.; FRANCONE, C. A.; LOSSOW, W. J. Anatomia
e fsiologia humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan,
1982.
MORRE, K. L.; DALLEY, A. R. Anatomia: orientada para a clni-
ca. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2001.
SNELL, R. S. Anatomia clnica para estudantes de Medicina. 5.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2000.
SPENCE, A. P. Anatomia Humana Bsica. 2. ed. So Paulo: Ma-
nole, 1991.
ZORZETTO, N. L. Curso de Anatomia Humana. 5. ed. Bauru:
EDIPRO, 1993.
2) Livro Atlas
KHALE, W.; LEONHARDT; H.; PLATZER, W. Atlas de Anato-
mia Humana. So Paulo: Livraria Atheneu, 1988. v. 1-2.
NETTER, H. F. Atlas de Anatomia Humana. 8. ed. Porto Alegre:
Artes Mdicas, 1966. v. 1.
ROHEN, J. W.; YOKOCHI, C. Atlas fotogrfco de Anatomia Sis-
tema e Regional. So Paulo: Manole, 1989.
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 20. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1995. v, I-II.
C
A
P
T
U
L
O
9
C
A
P
T
U
L
O
9
Sistema Urinrio
A urina o que no se aproveita do sangue. Cerca de 95%
dela gua e os 5% restantes so uma mistura de substncias.
A urina o produto resultante do trabalho do Sistema Uri-
nrio em fltrar o sangue. Neste captulo voc conhecer mais
profundamente esses rgos e poder descrever a morfologia
externa e interna, a localizao topogrfca e os envoltrios
do rim. Poder descrever e citar as partes e o trajeto do ure-
ter. Conhecer forma, volume, localizao e relaes da bexi-
ga urinria. Apreender a diferena entre uretra masculina
e feminina sob o ponto de vista funcional e identifcar a
anatomia macroscpica das estruturas do Sistema Urinrio.
151 Sistema Urinrio
9.1 Generalidades e Conceitos
O Sistema Urinrio compreende os rins, os ure-
teres, a bexiga urinria e a uretra, conforme ilus-
tra a Figura 9.1. Ele responsvel pela produo e
pela eliminao da urina. Com exceo da uretra,
o Sistema Urinrio situa-se dentro das cavidades
abdominal e plvica.
Podemos conceituar o Sistema Urinrio como
o conjunto de rgos responsveis pela fltrao
do sangue e pela eliminao dos resduos sob a
forma de urina.
9.2 Rim
Os rins so rgos pares em forma de gro de
feijo que possuem aproximadamente 12cm de
comprimento, 6cm de largura e 3cm de espessura.
Eles esto situados de cada lado da coluna verte-
bral, na regio lombar, junto parede posterior do
abdome. O rim um importante rgo na manu-
teno do equilbrio inico do sangue.
Glndulas
supra renais
Rim
Rim
Ureteres
Bexiga
Uretra
Figura 9.1 - rgos que fazem parte do Sistema
Urinrio
152 Sistema Urinrio
9.2.1 Morfologia externa
Distinguem-se no rim (veja a Fi-
gura 9.2) duas faces, duas margens
e dois plos. Das duas faces, uma
a anterior, mais abaulada, e a outra
a posterior, mais plana. Dos plos,
um o superior e o outro o infe-
rior. No plo superior encontra-se
uma formao triangular conheci-
da como glndula supra-renal.
Das duas margens, uma medial
(cncava) e a outra lateral (con-
vexa). Na margem medial do rim
est situado o hilo renal.
O hilo renal uma abertura na
margem medial do rim onde esto
presentes os elementos que constituem o pedculo renal, que so
compostos pela artria renal, pela veia renal e pela pelve renal.
9.2.2 Envoltrios
O tecido renal ou parnquima renal revestido por uma mem-
brana fbromuscular denominada cpsula renal. Por fora dessa
cpsula, o rim possui uma se-
gunda membrana de revesti-
mento chamada de fscia renal.
Entre a cpsula e a fscia renal
existe o espao perirrenal, pre-
enchido por um tecido gordu-
roso conhecido como gordura
perirrenal. Podemos, ainda,
verifcar que externamente
fscia renal o rim protegido
pela gordura pararrenal (veja
a Figura 9.3).
Cpsula
brosa
Borda
medial
Hilo
Artria
renal
Veia renal
Ureter
Extremidade
inferior
Face
anterior
Borda
lateral
Extremidade
superior
Figura 9.2 - A gura mostra a
morfologia externa do rim
Cpsula renal
Fscia renal
Msculos
Rim
Gordura
peri-renal
Gordura
para-renal
Figura 9.3 - Desenho esquemtico dos
envoltrios do rim
153 Sistema Urinrio
9.2.3 Morfologia interna
Para visualizar as estruturas internas do rim (veja a Figura 9.4),
preciso realizar um corte coronal desse rgo. Dentro do rim
encontra-se uma cavidade (espao) que contm a pelve renal e os
vasos renais chamada de seio renal.
Alm disso, no parnquima (ou tecido) renal pode-se observar
macroscopicamente a presena de duas camadas distintas:
a 1. camada externa, mais clara, constitui o crtex renal, que se
projeta para a camada interna constituindo as colunas renais; e
a 2. camada interna, mais escura, compreende a medula renal,
onde esto presentes as pirmides renais.
As pirmides renais so estruturas triangulares cujo nmero va-
ria em torno de 15 unidades. Elas esto dispostas, na medula renal,
entre as colunas renais com a base voltada para o crtex e o pice
dirigido para o seio renal.
Para cada pirmide renal existe um tbulo coletor chamado de
clice renal menor, que a seguir se junta em tubos coletores maio-
res que so os clices renais maiores.
De um modo geral, os trs clices
renais maiores encontram-se para
formar a pelve renal. Portanto, a
pelve renal compreende uma estru-
tura em forma de taa resultante da
confuncia dos clices renais maio-
res. Podemos ainda dizer que a pelve
renal a extremidade superior dila-
tada do ureter.
Ento, a urina produzida no pa-
rnquima renal coletada pelos c-
lices renais menores, segue para os
clices renais maiores, para a pelve
renal e para o ureter.
Litase renal (clculo renal)
formada na pelve renal, no
rim ou na bexiga atravs da
combinao de cido rico,
oxalato de clcio e fosfato
de clcio; pode determinar
a reteno de urina, dor e
infeco devido ao bloqueio
dos ureteres.
Ctex
Cpsula
brosa
Clices
menores
Seio
renal
Clices
renais
maiores
Pelve
renal
Clices
renais
menores
Ureter
Medula
(pirmide)
Papila da
pirmide
Coluna
renal
Figura 9.4 - A gura mostra o desenho
esquemtico das estruturas internas do rim
154 Sistema Urinrio
9.3 Ureter
O ureter um tubo muscular de aproximadamente 25cm de
comprimento que leva a urina do rim at a bexiga urinria. Ele
possui duas pores:
uma 1. poro abdominal, que desce junto parede posterior do
abdome; e
uma 2. poro plvica, que desce junto parede lateral da pelve.
A seguir, o ureter se volta medialmente para desembocar na be-
xiga urinria.
9.3.1 Estreitamentos do ureter
A Figura 9.5 mostra que no seu trajeto o ureter encontra-
se estreitado em trs locais:
inicialmente, 1. na juno com a pelve renal;
em seguida quando ele 2. contorna superiormente os va-
sos ilacos; e
finalmente quando ele 3. atravessa a parede da bexiga.
9.4 Bexiga Urinria
A bexiga urinria (veja a Figura 9.6) uma bolsa situada
sobre o osso do pbis, na cavidade plvica, onde fca arma-
zenada temporariamente a urina. A sua capacidade normal
varia em torno de 300ml.
Distinguimos na bexiga quatro faces: uma superior, duas
nfero-laterais e uma posterior (que corresponde ao fundo
da bexiga). Alm disso, ela apresenta um pice voltado n-
tero-superiormente, um corpo que corresponde sua maior
extenso e um colo na sua parte inferior.
No interior da bexiga encontra-se uma rea triangular, de
mucosa lisa, situada entre os stios ureterais e o stio interno
da uretra chamada de trgono vesical.
Rim
Pelve renal
Ureter
Vasos
Ilacos
Parede da
bexiga
Bexiga
Figura 9.5 - Desenho esquemtico dos
pontos de estreitamentos do ureter
155 Sistema Urinrio
O msculo detrusor faz parte da camada mais espessa da pare-
de da bexiga, a camada muscular. Ela responsvel pela contrao
e, conseqentemente, pelo esvaziamento da bexiga.
Ureteres
stio
uretrico
pice
Trgono
vertical
Colo
Uretra
Fundo
(base)
stios uretricos
Bexiga
urinria
Msculo detrusor
Trgono vesical
Diafragma da pelve
Bulbo do pnis
Ramo do pnis
Glndula bulbouretral
Parte prosttica da uretra
Prstata
stio
interno
da uretra
S
u
p
e
r
i
o
r
n
fe
ro
-la
te
ra
l
Figura 9.6 - Representao esquemtica da anatomia da bexiga
156 Sistema Urinrio
9.5 Uretra
A uretra consiste de um tubo fbromuscular que serve de ca-
nal para a passagem da urina da bexiga para o meio externo. Na
mulher, passa na uretra somente urina, enquanto que no homem,
alm de urina, passa tambm o smen.
Na mulher (veja a Figura 9.7) a uretra mais curta, mais reta e
mede em torno de 4cm de comprimento. Ela se estende do colo da
bexiga at o vestbulo da vagina.
No homem (veja a Figura 9.8) a uretra mais longa, mais sinu-
osa e mede em torno de 20cm de comprimento. Ela se estende do
colo da bexiga at o stio externo da uretra, que fca na glande do
pnis. A uretra masculina apresenta trs partes: (1) prosttica, (2)
membrancea e (3) esponjosa. A parte prosttica a poro que
Uretra
Bexiga
tero
Reto
Vagina
Figura 9.7 - Ilustrao
esquemtica da pelve feminina
157 Sistema Urinrio
atravessa a prstata, a parte membrancea a poro que atraves-
sa certos msculos do perneo e a parte esponjosa a poro que
corre dentro do corpo esponjoso do pnis.
Figura 9.8 - Ilustrao esquemtica da pelve masculina
Resumo
Neste capitulo, voc estudou os rgos que fazem a fltrao do
sangue e a eliminao dos resduos na forma de urina. Ele est
constitudo de dois rins, dois ureteres, uma bexiga urinria e
uma uretra.
Os rins, como os principais rgos excretores, so importantes
na manuteno da constncia do meio interno (homeostase). Os
Bexiga
Testculo
Ducto deferente Ducto
ejaculatrio
Ampola do
ducto deferente
Reto
Uretra
prosttica
Uretra
esponjosa
Uretra
membranosa
158 Sistema Urinrio
rins eliminam do corpo grande quantidade de produtos de meta-
bolismo tais como a uria, o cido rico e a creatinina. O mau fun-
cionamento dos rins pode produzir problemas srios e at fatais. A
fm de se prevenir a morte, torna-se necessrio o transplante dos
rins ou a remoo das substncias nocivas do sangue por meio da
hemodilise.
Aps a fltrao do sangue nos rins, a urina conduzida por
dois canais denominados ureteres at a bexiga urinria, onde fca
armazenada (em torno de 300ml) temporariamente. A partir da
bexiga urinria a urina levada por um canal chamado uretra
para o meio exterior. Na mulher a uretra termina no vestbulo va-
ginal e no homem, na glande do pnis.
Referncias Bibliogrcas
1) Livro Texto
CASTRO, S. V. Anatomia Fundamental. 3. ed. So Paulo: Makron
Books, 1985.
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Sistmi-
ca e Segmentar: para o estudante de Medicina. 2. ed. So Paulo:
Atheneu, 1998.
JACOB, S. W.; FRANCONE, C. A.; LOSSOW, W. J. Anatomia e
Fisiologia Humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara-
Koogan, 1982.
MORRE, K. L.; DALLEY, A. R. Anatomia: orientada para a clni-
ca. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2001.
SNELL, R. S. Anatomia clnica para estudantes de Medicina. 5.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2000.
SPENCE, A. P. Anatomia Humana Bsica. 2. ed. So Paulo: Ma-
nole, 1991.
ZORZETTO, N. L. Curso de Anatomia Humana. 5. ed. Bauru:
EDIPRO, 1993.
159 Sistema Urinrio
2) Livro Atlas
NETTER, H. F. Atlas de Anatomia Humana. 8. ed. Porto Alegre:
Artes Mdicas, 1966. v. 1,
KHALE, W.; LEONHARDT, H.; PLATZER, W. Atlas de Anato-
mia Humana. So Paulo: Livraria Atheneu, 1988. v. 1-2.
ROHEN, J. W.; YOKOCHI, C. Atlas fotogrfco de Anatomia Sis-
tema e Regional. So Paulo: Manole, 1989.
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 20. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1995. v. I-II.
C
A
P
T
U
L
O
1
0
C
A
P
T
U
L
O
1
0
Sistema Genital
Tanto o sistema genital feminino quanto o masculino pos-
suem glndulas especializadas que produzem as clulas sexu-
ais e ainda segregam hormnios que so responsveis pelas
caractersticas sexuais. Este captulo lhe apresentar os con-
ceitos do sistema genital masculino e do sistema genital femi-
nino. Voc poder descrever a morfologia dos testculos, do
epiddimo e do funculo espermtico, e citar o trajeto do duc-
to deferente. A respeito do sistema genital feminino, voc co-
nhecer mais profundamente a anatomia do ovrio, da tuba
uterina, do tero e da vagina, podendo assim descrev-los.
163 Sistema Genital
10.1 Generalidades e Conceitos
Os rgos genitais masculino e feminino tm a capacidade de
realizar a reproduo humana. Portanto, a reproduo caracteri-
za-se pela capacidade do ser vivo de gerar um outro ser da mes-
ma espcie com as mesmas caractersticas. Para a perpetuao da
espcie necessrio o contato de um macho com uma fmea por
meio de seus rgos reprodutores masculino e feminino.
Baseado no exposto, podemos conceituar o Sistema Genital
como o conjunto de rgos responsveis pela produo de game-
tas e hormnios sexuais secundrios com a fnalidade de realizar a
reproduo da espcie.
Divide-se o Sistema Genital em sistema genital masculino e sis-
tema genital feminino.
10.2 Sistema Genital Masculino
constitudo pelas seguintes estruturas: um escroto, dois test-
culos, dois epiddimos, dois funculos espermticos, dois ductos
ejaculatrios, uma uretra, um pnis e glndulas anexas.
10.2.1 Escroto (ou bolsa testicular)
O escroto (veja a Figura 10.1) uma dobra de pele situada ex-
ternamente, na regio do perneo, onde esto alojados os testcu-
164 Sistema Genital
los, os epiddimos e o incio do funculo espermtico. No escroto
encontram-se rugas e plos. A rafe mediana uma prega da pele
que individualiza externamente o escroto em duas partes: uma di-
reita e a outra esquerda.
Epiddimo
Extremidade
Superior
Borda
Anterior
Borda
Posterior
Extremidade
Inferior
Testculo
Escroto
(bolsa testicular)
Figura 10.1 - A gura ilustra o escroto, o testculo e o epiddimo
10.2.2 Testculo
Os testculos so rgos pares, ovides, localizados no escroto,
responsveis pela produo de espermatozides e de hormnios
do indivduo, durante e aps a puberdade.
O testculo apresenta duas faces, duas margens e dois plos:
(1) as faces so lateral e medial; (2) as margens so anterior e
posterior; e (3) os plos so superior e inferior.
A Figura 10.2 ilustra a estrutura interna do testculo. Note que
o testculo possui uma membrana externa de tecido conjuntivo
fbroso chamada de tnica albugnea. Dela partem septos para o
165 Sistema Genital
interior do testculo, subdividindo-o
em compartimentos menores deno-
minados lbulos. Dentro dos lbulos
encontram-se os tbulos seminfe-
ros contorcidos. Nestes, so produ-
zidos os espermatozides.
Os tbulos seminferos contorci-
dos convergem para o mediastino
do testculo, constituindo os tbu-
los seminferos retos, que se anasto-
mosam formando a rede testicular.
Da rede testicular os tbulos semi-
nferos retos desembocam em 10 a
15 dctulos eferentes, que do test-
culo deslocam-se para a cabea do
epiddimo.
10.2.3 Epiddimo
Contornando o plo superior e a mar-
gem posterior do testculo, encontra-se
uma estrutura em forma de letra C chama-
da epiddimo. Ele apresenta uma dilatao
superior, denominada cabea, uma poro
intermediria, o corpo, e uma poro in-
ferior mais estreitada, denominada cauda
(veja a Figura 10.3).
O ducto deferente inicia-se junto cau-
da do epiddimo. No epiddimo ocor-
rem o armazenamento e a maturao dos
espermatozides.
10.2.4 Ducto deferente
O ducto deferente um canal musculo-
membranoso que conduz os espermatozi-
des do epiddimo at a uretra. Ele ascende
no escroto, atravessa o canal inguinal e, a
Ducto
Deferente
Ductos
Eferentes
Rede
Testicular
Tubos Seminferos
Contorcidos
Tubos Seminferos
Retos
Figura 10.2 - Desenho esquemtico da morfologia interna
do testculo
Cabea
Epiddimo
Corpo
Cauda
Figura 10.3 - Ilustrao das partes do epiddimo
166 Sistema Genital
Funculo
Espermtico
Epiddimo
Testculo
seguir, na cavidade plvica, junta-se com o ducto da vescula se-
minal para formar o ducto ejaculatrio. Finalmente, o ducto eja-
culatrio atravessa o parnquima da prstata para desembocar na
uretra prosttica.
A extremidade terminal e dilatada do ducto deferente a am-
pola, local onde fcam armazenados os espermatozides antes da
ejaculao (veja a Figura 9.8 do Sistema Urinrio).
O ducto ejaculatrio um canal que mede em torno de 3cm
de comprimento. No ducto ejaculatrio passam espermatozide e
lquido seminal (veja a Figura 9.8 do Sistema Urinrio).
10.2.5 Funculo espermtico
O funculo espermtico (veja a Figura
10.4) o conjunto de estrutura em forma
de cordo que desce do abdome e passa
pelo canal inguinal para atingir os test-
culos. Compem o funculo espermtico
as seguintes estruturas: o ducto deferente,
a artria testicular, a veia testicular (plexo
pampiniforme), o nervo genitofemoral e
o msculo cremaster. Esses componentes
acompanham os testculos durante a sua
descida para o escroto.
10.2.6 Uretra masculina
Ver uretra masculina no item 9.5 do ca-
ptulo anterior referente ao contedo do
Sistema Urinrio (veja a Figura 9.8).
10.2.7 Pnis
O pnis o rgo de cpula masculi-
no, responsvel pela deposio do smen
na vagina (pertencente ao sistema genital
feminino).
Figura 10.4 - Representao esquemtica do funculo
espermtico
Pgina 157
167 Sistema Genital
Podemos distinguir duas partes compondo o
pnis, conforme ilustra a Figura 10.5: (1) uma raiz
que est fxa na pelve (perneo) e (2) uma parte
livre chamada corpo. A raiz formada pelos ra-
mos e pelo bulbo do pnis. O corpo constitudo
pelos corpos cavernosos e pelo corpo esponjo-
so do pnis. Os corpos cavernosos so projees
anteriores dos ramos do pnis e o corpo esponjo-
so, por sua vez, uma projeo anterior do bul-
bo do pnis. Os corpos cavernosos e esponjoso
do pnis so compostos de tecidos ertil e esto
revestidos por uma membrana fbrosa, a tnica
albugnea. Dentro do corpo esponjoso do pnis
passa a uretra esponjosa, que termina na glande,
dilatao anterior do corpo esponjoso, onde fca
o stio externo da uretra.
A pele que reveste a glande do pnis chamada
de prepcio. O frnulo do prepcio uma prega
da pele que prende o prepcio na parte inferior
da glande.
10.2.8 Glndulas anexas
As glndulas anexas ao sistema genital mas-
culino (veja a Figura 10.5) auxiliam no trans-
porte do espermatozide para o meio exterior.
Alm disso, elas secretam o lquido seminal que
nutre os espermatozides e, ao mesmo tempo, permite os seus
deslocamentos.
As glndulas anexas ao sistema genital masculino so: (1) as ve-
sculas seminais, (2) a prstata e (3) as glndulas bulbouretrais.
As 1. vesculas seminais so duas bolsas que se situam na parte
pstero-inferior da bexiga urinria. O seu ducto se une com o
da ampola do ducto deferente para formar o ducto ejaculatrio
(veja a Figura 9.8 do Sistema Urinrio).
A 2. prstata uma glndula mpar situada junto ao colo da be-
xiga urinria. Est constituda de tecido muscular liso, tecido
Glndulas
Bulbo-uretrais
Ramo do
pnis
Prstata
Vescula
seminal
Ducto
deferente
Bulbo do
pnis (raiz)
Glande
Corpo
Esponjoso
Corpos
Cavernosos
Figura 10.5 - A gura mostra as partes do pnis
168 Sistema Genital
fibroso e tecido glandular. A sua secreo confere o odor carac-
terstico ao smen.
As 3. glndulas bulbouretrais so duas glndulas pequenas, ar-
redondadas, que esto situadas na substncia do diafragma
urogenital. Essas, por sua vez, secretam o seu produto dentro
da uretra membrancea.
10.3 Sistema Genital Feminino
A Figura 10.6 mostra os vrios rgos que compem o sistema
genital feminino. Fazem parte desse sistema os ovrios, as tubas
uterinas, o tero, a vagina e os rgos genitais externos (vulva).
Ovrio
Reto
Colo do
tero
Vagina
Vestbulo vaginal
stio da uretra
Tuba uterina
Corpo do
tero
Bexiga
Uretra
Clitris
Lbios menores
Lbios maiores
Figura 10.6 - Desenho esquemtico da disposio do sistema genital feminino.
169 Sistema Genital
10.3.1 Ovrio
O ovrio a gnada feminina
responsvel pela produo de ga-
meta feminino (vulo) e horm-
nios sexuais (estrgenos e proges-
terona). Esses hormnios, alm de
controlar o desenvolvimento dos
caracteres sexuais secundrios,
atuam, tambm, sobre o tero na
fxao do vulo fecundado e na
regulao do ciclo menstrual.
O ovrio (veja a Figura 10.7)
tem o formato de uma amndoa,
est situado na fossa ovrica, junto
parede lateral da pelve. Ele apresenta duas faces (lateral e me-
dial), duas margens (mesovrica e livre) e duas extremidades (tu-
bria e uterina).
10.3.2 Tuba uterina
A tuba uterina consiste de tubo que mede aproximadamente
8cm de comprimento e est situada entre o ovrio e o tero. o
local onde ocorre a fecundao.
A tuba uterina (veja a Figura 10.8) apresenta-se constituda
de quatro pores: (1) intramural, (2) istmo, (3) ampola e (4)
infundbulo.
A poro que fica dentro da parede do tero chamada de 1.
intramural.
O 2. istmo a poro mais estreitada da tuba.
A 3. ampola a poro mais dilatada da tuba e o local onde ocor-
re a fecundao.
4. Infundbulo a poro terminal da tuba uterina. As fmbrias
so franjas situadas no infundbulo, a fmbria ovrica a mais
longa e responsvel pela captao do vulo do ovrio para den-
tro da tuba uterina.
Ovrio
Extremidade
tubal
Extremidade
uterina
Borda
mesovrica
Face medial
Borda livre
Figura 10.7 - Ilustrao da morfologia externa do ovrio
170 Sistema Genital
Tuba uterina
Fundo do tero
Poro do istmo
Poro intramatural
Poro da mpola
Infundbulo
Fimbrias
Ovrio
Lig. prprio do ovrio
Cavidade uterina
Endomtrio
Miomtrio
Istmo do tero
Colo do tero
Vagina aberta
Parede da vagina
Hmen
Lbios menores
Vestbulo da vagina
stio do tero
Corpo do tero
Lig. largo
do tero
Figura 10.8 - A gura mostra as pores da tuba uterina e a morfologia do tero
10.3.3 tero
O tero um rgo muscular oco, mpar e mediano. Possui a
forma de pra invertida e est situado na cavidade plvica, entre a
bexiga urinria e o reto. O tero o local onde ocorre a gestao.
A sua parede constituda de endomtrio, miomtrio e peri-
mtrio. O endomtrio a camada interna que forra o tero. Parte
dessa camada se desprende durante a menstruao. O miomtrio
a camada mdia, de tecido muscular liso. E o perimtrio a ca-
mada externa, constituda de peritnio que reveste o tero.
Distinguem-se no tero quatro pores:
171 Sistema Genital
o 1. fundo a poro voltada para cima;
o 2. istmo a poro mais estreitada do tero;
o 3. corpo a poro entre o fundo e o istmo; e
o 4. colo ou crvix a poro que fica inferior ao istmo.
O tero est fxado dentro da cavidade plvica por ligamentos.
Dentre os ligamentos, os mais importantes so o ligamento largo,
o ligamento redondo e o ligamento uteroovrico. O ligamento
largo uma prega do peritnio que envolve o tero e o fxa na
parede lateral da pelve. O ligamento redondo sai do tero e passa
pelo canal inguinal para se fxar nos lbios maiores da vulva, e o
ligamento uteroovrico fxa o ovrio ao tero, conforme mostra
a Figura 10.8.
10.3.4 Vagina
A vagina um tubo musculomembranceo mediano, mede em
torno de 8cm de comprimento. Ela envolve parte do colo do te-
ro, atravessa o diafragma urogenital e termina no stio da vagina,
que fca na vulva. tambm conhecido como o rgo de cpula
da mulher. As paredes anterior e posterior da vagina permanecem
colabadas na maior parte de sua extenso.
Na mulher virgem, o stio da vagina fechado parcialmente
por uma membrana denominada hmen, conforme demonstra a
Figura 10.8.
10.3.5 rgos genitais externos
A Figura 10.9 representa os rgos genitais femininos externos.
Note que a vulva compreende o conjunto de estruturas que consti-
tuem a parte externa do rgo genital feminino.
O monte pbico uma elevao mediana, anterior snfise
pbica e constituda de tecido gorduroso.
Os lbios maiores so duas pregas da pele que delimitam entre
si um espao, chamado rima do pudendo.
Os lbios menores so duas pregas da pele localizadas entre os
lbios maiores. O espao entre os lbios menores, conhecido
172 Sistema Genital
como vestbulo vaginal, o local onde se situam o clitris, o
stio externo da uretra, o stio da vagina e os orifcios dos duc-
tos das glndulas vestibulares.
O clitris uma estrutura homloga ao pnis. Possui duas ex-
tremidades fixadas no squio e no pbis chamadas de ramos do
clitris, que a seguir se juntam formando o corpo do clitris.
Este termina por uma dilatao chamada glande do clitris.
Os bulbos do vestbulo so duas massas de tecido ertil que
contornam o stio da vagina e, por sua vez, so homlogos ao
bulbo e ao corpo esponjoso do pnis, respectivamente.
Monte pbico
Glande do cltoris
stio uretral
Lbio menor
Lbio maior
stio vaginal
Vestbulo
Hmen
Figura 10.9 - Estruturas que constituem o rgo genital externo feminino
173 Sistema Genital
Resumo
O Sistema Genital (ou reprodutor) um conjunto de rgos
responsveis pela produo de gametas e hormnios sexuais se-
cundrios com a fnalidade de realizar a reproduo das espcies.
Divide-se o Sistema Genital em sistema genital masculino e sis-
tema genital feminino.
Os rgos que produzem os gametas so chamados gnadas
os testculos no homem e os ovrios na mulher. Alm da produo
de gametas, as gnadas produzem hormnios que infuem no de-
senvolvimento das caractersticas sexuais secundrias masculinas
ou femininas e regulam o ciclo reprodutivo. No homem, os test-
culos produzem a testosterona e na mulher os ovrios produzem
estrgenos e progesterona.
As estruturas que transportam, protegem e nutrem os gametas,
aps terem deixado as gnadas, so no homem os epiddimos, os
ductos deferentes, as vesculas seminais, a glndula prstata, as
glndulas bulbouretrais, o escroto e o pnis; e na mulher incluem
as tubas uterinas, o tero, a vagina e a vulva.
Referncias Bibliogrcas
1) Livro Texto
CASTRO, S. V. Anatomia Fundamental. 3. ed. So Paulo: Makron
Books, 1985.
DANGELO, J. G.; FATTINI, C. A. Anatomia Humana Sistmi-
ca e Segmentar: para o estudante de Medicina. 2. ed. So Paulo:
Atheneu, 1998.
JACOB, S. W.; FRANCONE, C. A.; LOSSOW, W. J. Anatomia e
Fisiologia Humana. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan,
1982.
MORRE, K. L.; DALLEY, A. R. Anatomia: orientada para a clni-
ca. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2001.
174 Sistema Genital
SNELL, R. S. Anatomia clnica para estudantes de Medicina. 5.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2000.
SPENCE, A. P. Anatomia Humana Bsica. 2. ed. So Paulo: Ma-
nole, 1991.
ZORZETTO, N. L. Curso de Anatomia Humana. 5. ed. Bauru:
EDIPRO, 1993.
2) Livro Atlas
KHALE, W.; LEONHARDT, H.; PLATZER, W. Atlas de Anato-
mia Humana. So Paulo: Livraria Atheneu, 1988. v. 1-2.
NETTER, H. F. Atlas de Anatomia Humana. 8. ed. Porto Alegre:
Artes Mdicas, 1966. v. 1.
ROHEN, J. W.; YOKOCHI, C. Atlas fotogrfco de Anatomia Sis-
tema e Regional. So Paulo: Manole, 1989.
SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. 20. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 1995. v. I-II.
Você também pode gostar
- Gestão e EmprededorismoDocumento137 páginasGestão e EmprededorismoRicyloira100% (1)
- Reconstruindo Um Fusquinha - O ManualDocumento30 páginasReconstruindo Um Fusquinha - O Manualfabrizioalbertini77% (13)
- Lindo Coral - Partituras e Partes PDFDocumento84 páginasLindo Coral - Partituras e Partes PDFJackeline Cristina100% (1)
- Check List - Gestão Ambiental - Iso 14001Documento29 páginasCheck List - Gestão Ambiental - Iso 14001Gustavo Maximo100% (17)
- Livro Novo AnatomiaDocumento175 páginasLivro Novo AnatomiaNuno Martinho100% (1)
- Fisiologia HumanaDocumento253 páginasFisiologia HumanaAlexandre MartinsAinda não há avaliações
- Apostila 2-Tratamento de EfluentesDocumento13 páginasApostila 2-Tratamento de EfluentesJady MarquezAinda não há avaliações
- Ácidos, Bases, Sais e ÓxidosDocumento35 páginasÁcidos, Bases, Sais e ÓxidosLucas Souza100% (2)
- (2019) Direito Previdenciário - Atualidades e Tendências - Renata Brandão Canella - 1 PDFDocumento349 páginas(2019) Direito Previdenciário - Atualidades e Tendências - Renata Brandão Canella - 1 PDFYuri Moreira100% (1)
- Bioquímica Clínica Livro Texto - Unidade IDocumento86 páginasBioquímica Clínica Livro Texto - Unidade ImsspriteAinda não há avaliações
- Aula - Funçoes Quimicas - 1Documento34 páginasAula - Funçoes Quimicas - 1Thayla Castro100% (1)
- Parasitologia e Doenças Infecciosas para Área de Saúde - Machado Et AlDocumento278 páginasParasitologia e Doenças Infecciosas para Área de Saúde - Machado Et AlCaio Silva100% (1)
- Folder Orientação de Internação Acompanhante Visita FinalDocumento2 páginasFolder Orientação de Internação Acompanhante Visita FinalBruno Reis TorezanAinda não há avaliações
- Directorio Sector de AguasDocumento56 páginasDirectorio Sector de AguasValdemiro Pitoro100% (1)
- Guia Comida Saudável para Seu Cachorro PDF - Comida de CachorroDocumento2 páginasGuia Comida Saudável para Seu Cachorro PDF - Comida de CachorroO Método X0% (3)
- Coesão Referencial: 6º ANO Aula 40 - 3º BimestreDocumento20 páginasCoesão Referencial: 6º ANO Aula 40 - 3º BimestreMARIA ANGELICA CAL GARCIAAinda não há avaliações
- 14.0.terapia NutricionalDocumento34 páginas14.0.terapia NutricionalJackeline CristinaAinda não há avaliações
- Bacilos Gram Positivos EsporuladosDocumento20 páginasBacilos Gram Positivos EsporuladosGregory Anthony100% (1)
- Parasitologia HumanaDocumento14 páginasParasitologia HumanaFarai Bento100% (1)
- Histórico Ritz Manutenção Redes de DistribuiçãoDocumento30 páginasHistórico Ritz Manutenção Redes de DistribuiçãoFrancis NascimentoAinda não há avaliações
- Resumos de BiologiaDocumento8 páginasResumos de BiologiaLilianaAinda não há avaliações
- Aula 3 Introdução Titulação QUI 094 2018 1 Alunos1Documento16 páginasAula 3 Introdução Titulação QUI 094 2018 1 Alunos1Neto GomesAinda não há avaliações
- Célula - Diversidade e Unidade Biológica 10ºano S4Documento28 páginasCélula - Diversidade e Unidade Biológica 10ºano S4Paula FernandesAinda não há avaliações
- O Que É Existencialismo João Da PenhaDocumento9 páginasO Que É Existencialismo João Da PenhaJackeline CristinaAinda não há avaliações
- Princípios Bioéticos PDFDocumento35 páginasPrincípios Bioéticos PDFwes souzaAinda não há avaliações
- Fisiologia Humana II Apostila (Conteúdo)Documento70 páginasFisiologia Humana II Apostila (Conteúdo)RosaAinda não há avaliações
- NoxDocumento6 páginasNoxRaphaAlmeidaAinda não há avaliações
- Lindolfo Mono FinalDocumento45 páginasLindolfo Mono FinalRogério Maurício Miguel100% (2)
- Equilíbrio Ácido BaseDocumento16 páginasEquilíbrio Ácido BaseCarolina ZinnAinda não há avaliações
- Farmacoquimica Analítica IDocumento22 páginasFarmacoquimica Analítica ILetto Sena100% (1)
- Modulo - Saude Publica e AmbienteDocumento224 páginasModulo - Saude Publica e AmbienteSérgio SaguarAinda não há avaliações
- Conceitos Básicos em FarmacologiaDocumento6 páginasConceitos Básicos em FarmacologiaAna Paula PereiraAinda não há avaliações
- Músculos Do Corpo HumanoDocumento5 páginasMúsculos Do Corpo HumanoMikael De Carvalho FagundesAinda não há avaliações
- Alimentos e NutrientesDocumento13 páginasAlimentos e NutrientesCarlos Rodrigues100% (1)
- Bioquimica 1Documento78 páginasBioquimica 1RM MódulosAinda não há avaliações
- Patologia - Distúrbios Da Circulação - LarihDocumento46 páginasPatologia - Distúrbios Da Circulação - LarihGabriel Messias100% (1)
- Relacao Entre Metabolismo Do Ferro e Anemia Ferropriva TCC Final 26 05 15 EdmilsonDocumento33 páginasRelacao Entre Metabolismo Do Ferro e Anemia Ferropriva TCC Final 26 05 15 EdmilsonVictorino AdelinoAinda não há avaliações
- E29140V30PORTU00Box385422B00PUBLIC0 PDFDocumento337 páginasE29140V30PORTU00Box385422B00PUBLIC0 PDFHamilton NguleleAinda não há avaliações
- Manual de Coleta de Exames MicrobiológicosDocumento38 páginasManual de Coleta de Exames MicrobiológicosRodrigo Da Silva FernandesAinda não há avaliações
- As Funções Inorgânicas No CotidianoDocumento8 páginasAs Funções Inorgânicas No CotidianoMarcivaldo SantosAinda não há avaliações
- Metodologia I Limpeza Do Material de LaboratorioDocumento4 páginasMetodologia I Limpeza Do Material de LaboratorioValdenice Bezerra Bezerra100% (1)
- Normativos Legais para A Potabilidade Da ÁguaDocumento29 páginasNormativos Legais para A Potabilidade Da ÁguaTATIANE DE OMENA LIMAAinda não há avaliações
- Alfa Pesquisa Sobre A Multa Por Adultério No Sul de AngolaDocumento33 páginasAlfa Pesquisa Sobre A Multa Por Adultério No Sul de AngolaMwene VunongueAinda não há avaliações
- Orgãos Do Sentido CompletoDocumento14 páginasOrgãos Do Sentido CompletoValdir FerreiraAinda não há avaliações
- Química Geral e InorgânicaDocumento20 páginasQuímica Geral e InorgânicaOsmar FagundesAinda não há avaliações
- BioeletrogêneseDocumento5 páginasBioeletrogêneseAlex RochaAinda não há avaliações
- Manual de Resíduos Hospitalares PDFDocumento28 páginasManual de Resíduos Hospitalares PDFWmatias Silva100% (1)
- Pirâmide AlimentarDocumento4 páginasPirâmide AlimentarVladimir Colombiano de SouzaAinda não há avaliações
- Slide Quimica Organica AmbientalDocumento46 páginasSlide Quimica Organica AmbientalAlisson SantanaAinda não há avaliações
- Técnicas de Irrigação para Agricultores de Pequena EscalaDocumento52 páginasTécnicas de Irrigação para Agricultores de Pequena EscalaTales SilvaAinda não há avaliações
- Stela EnemaDocumento10 páginasStela EnemaElton MatolaAinda não há avaliações
- Aula 7 Metabolismo Secundário Das PlantasDocumento37 páginasAula 7 Metabolismo Secundário Das PlantasGiane FavrettoAinda não há avaliações
- Trabalho - Gastrite e Úlcera Péptica - ApresentaçãoDocumento27 páginasTrabalho - Gastrite e Úlcera Péptica - Apresentaçãoflogoral100% (2)
- Músculos Da Cabeça e PescoçoDocumento59 páginasMúsculos Da Cabeça e PescoçovictoriaAinda não há avaliações
- Como Montar e Projetar Um Laboratório - Miguel JuniorDocumento6 páginasComo Montar e Projetar Um Laboratório - Miguel JuniorJessica AmaralAinda não há avaliações
- 01 - Nutrição - MacronutrientesDocumento20 páginas01 - Nutrição - MacronutrientesCaíque BarrosAinda não há avaliações
- ALCENOSDocumento15 páginasALCENOSGeraldo Luiz de SouzaAinda não há avaliações
- Cartilha Farmcia Hospitalar Verso WebDocumento52 páginasCartilha Farmcia Hospitalar Verso WebÍsis Nonato100% (1)
- Livro Química OrgânicaDocumento50 páginasLivro Química OrgânicaAdministrador SantosAinda não há avaliações
- Noções de EnfermagemDocumento4 páginasNoções de EnfermagemPatricia GuillenAinda não há avaliações
- Técnicas de Purificação de Caracterização de ProteínasDocumento41 páginasTécnicas de Purificação de Caracterização de ProteínasJohanaAinda não há avaliações
- AntraquinonasDocumento28 páginasAntraquinonasKeli FelixAinda não há avaliações
- Anatomia Musculos Do Corpo HumanoDocumento14 páginasAnatomia Musculos Do Corpo HumanoRycher AguiarAinda não há avaliações
- Anatomia e Fisiologia Do Sistema Genito Urinário - 1Documento7 páginasAnatomia e Fisiologia Do Sistema Genito Urinário - 1marcelodesousameloAinda não há avaliações
- EnzimasDocumento43 páginasEnzimasEdgard FreitasAinda não há avaliações
- Bromatologia - Aula 6Documento31 páginasBromatologia - Aula 6Ana Célia CarneiroAinda não há avaliações
- Da Antiguidade à Redescoberta das Leis de MendelNo EverandDa Antiguidade à Redescoberta das Leis de MendelAinda não há avaliações
- LUIS ALFREDO Livro - Anatomia - Humana - Professor - HamiltonDocumento174 páginasLUIS ALFREDO Livro - Anatomia - Humana - Professor - Hamiltonbento uaneAinda não há avaliações
- Fisiologia - UFSCDocumento253 páginasFisiologia - UFSCdarosa_fAinda não há avaliações
- Microbiologia - WEBDocumento213 páginasMicrobiologia - WEBAlexis Calafange MedeirosAinda não há avaliações
- 3814 - Imunologia LivroDocumento179 páginas3814 - Imunologia LivroCharlotteMarshallAinda não há avaliações
- QUEIROZ MVD ArquiteturaCidadeCampinaGrande1930 1950 MestradoDocumento250 páginasQUEIROZ MVD ArquiteturaCidadeCampinaGrande1930 1950 MestradoJackeline CristinaAinda não há avaliações
- Muito Além Do Céu - Partituras e PartesDocumento2 páginasMuito Além Do Céu - Partituras e PartesJackeline Cristina100% (1)
- O Abuso Sexual e A Crianca o Caso Joao e MariaDocumento14 páginasO Abuso Sexual e A Crianca o Caso Joao e MariaJackeline CristinaAinda não há avaliações
- Resenha História Da Psicologia ModernaDocumento3 páginasResenha História Da Psicologia ModernaJackeline Cristina100% (1)
- Pedagogia Paradesporto CompletoDocumento622 páginasPedagogia Paradesporto CompletoCamila BatistaAinda não há avaliações
- Cisto PoplíteoDocumento55 páginasCisto PoplíteoCliffton Kajitani HaradaAinda não há avaliações
- Apostila de Ukulele BásicoDocumento16 páginasApostila de Ukulele BásicoKarine FranklinAinda não há avaliações
- PT Domino Ax150i NewDocumento2 páginasPT Domino Ax150i NewDead ZomerAinda não há avaliações
- ORTOGRAFIADocumento7 páginasORTOGRAFIABeatriz GouveaAinda não há avaliações
- Aulão 1407 ConjuntosrevisãoDocumento5 páginasAulão 1407 ConjuntosrevisãoPedro Souza RicardoAinda não há avaliações
- Exercícios IIDocumento6 páginasExercícios IIMayu AlvesAinda não há avaliações
- Relato de Caso Tecnica de Cirurgia Reconstrutiva Com Retalho de Padrao Axial Preservando Arteria Epigastrica Caudal Superficial e Suas Veias Cutaneas DiretasDocumento31 páginasRelato de Caso Tecnica de Cirurgia Reconstrutiva Com Retalho de Padrao Axial Preservando Arteria Epigastrica Caudal Superficial e Suas Veias Cutaneas DiretasNaldo SouzaAinda não há avaliações
- FL630700 - V02 - Fispq - Fundo Transparente PDFDocumento12 páginasFL630700 - V02 - Fispq - Fundo Transparente PDFDiêgo SouzaAinda não há avaliações
- Filtros PassivosDocumento46 páginasFiltros PassivosAndrea Araujo SousaAinda não há avaliações
- Formato de Folha Auto CadDocumento8 páginasFormato de Folha Auto CadLotharSchmidtAinda não há avaliações
- Poluicao Mental e BookDocumento17 páginasPoluicao Mental e BookDenis Martins DantasAinda não há avaliações
- AtividadeDocumento5 páginasAtividadedionamorningstrAinda não há avaliações
- BiomecanicaDocumento34 páginasBiomecanicaRichardAinda não há avaliações
- Lógica de Programação - Marco GuimarãesDocumento190 páginasLógica de Programação - Marco GuimarãesMarco GuimarãesAinda não há avaliações
- Relatório 3Documento22 páginasRelatório 3helderevangelistaAinda não há avaliações
- Estudo InfernoDocumento22 páginasEstudo InfernoCarlos Cesar AragãoAinda não há avaliações
- Funções Do Direito PenalDocumento2 páginasFunções Do Direito PenalLarissa FeitosaAinda não há avaliações
- Controlabilidade e ObservabilidadeDocumento10 páginasControlabilidade e ObservabilidadeDeborah S. FructuosoAinda não há avaliações
- Metodo de GaussDocumento9 páginasMetodo de GaussKaizenBRAinda não há avaliações
- Teste Mate Analise CombinatoriaDocumento3 páginasTeste Mate Analise CombinatoriaCatamo970% (1)
- Dissert. Valdirene SilvaDocumento94 páginasDissert. Valdirene SilvaMephisto PhilisAinda não há avaliações