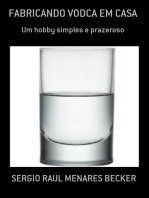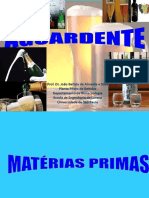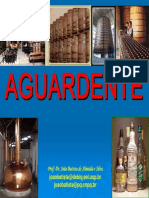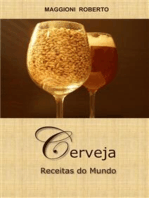Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Tec Cachaca
Tec Cachaca
Enviado por
Elaine VianaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Tec Cachaca
Tec Cachaca
Enviado por
Elaine VianaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Tecnologia de Produo
de Cachaa
Princpios do Processo de Produo de Cachaa de Qualidade
Leandro J.S. Espinoza
Bacharel em Qumica IQ/UNESP
Especialista em Tecnologia de Cachaa - UFLA/MG
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
1532-1548 Incio a indstria aucareira com a introduo da cana-de-acar no
Brasil pelos portugueses. Primeiros engenhos: So Vicente/SP
Caldo esquecido nos tachos de melao fermentavam de um dia para o outro e assim
descobre-se a aguardente ou cagaa.
Produo foi aprimorada. A cachaa sai da senzala e vai para a mesa do Senhor do
Engenho, gerando interesse econmico do Brasil colnia.
Ameaa aos interesses portugueses, pois a bagaceira passou a ser consumida em
menor escala.
Torna-se smbolo da resistncia da cultura brasileira contra a dominao portuguesa
e tambm dos ideais inconfidentes, da um dos motivos do grande nmero de
engenhos no Estado de Minas Gerais.
1639 - Primeira tentativa de impedir at sua fabricao.
1743 - Decreto rgio probe expressamente a produo de aguardente na Capitania
da Bahia.
1808 - Com a transmigrao da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, a cachaa
j era considerada como um dos principais produtos da economia brasileira.
HISTRICO
2
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
HISTRICO - Legislao
1819 - J se podia dizer que a cachaa era a aguardente do pas.
1972 - Lei 5.823: Sobre a padronizao, classificao, inspeo e registro de bebidas
Regulamentao - Decreto 73.267 de 1973.
Tratava a Aguardente de Melao e a Cachaa como sendo uma mesma bebida:
Aguardente de Melao ou Cachaa a bebida com a graduao alcolica de 38 a
54
o
GL, obtida do Destilado Alcolico Simples de Melao ou pela destilao do mosto
fermentado de melao resultante da produo do acar.
1994 - Lei 8.918: Sobre a padronizao, a classificao, o registro, a inspeo, a
produo e a fiscalizao de bebidas. Cria a Comisso Internacional de Bebidas.
Revoga Lei 5.823/72, assim como do seu regulamento.
1997 - Decreto 2314: aprova o Regulamento da Lei 8.918/94 e introduz mudanas na
definio dessas denominaes.
Porm, posicionou a Cachaa, a Aguardente de Cana e a Caninha como sendo uma
mesma bebida:
Aguardente de cana, Caninha ou Cachaa a bebida com graduao alcolica de
38 a 54 % em volume, a 20
o
C, obtida do destilado alcolico simples de cana-de-
acar ou, ainda, pela destilao do mosto fermentado de cana-de-acar.
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
2001 - Decreto 4.062: Definiu as expresses "cachaa", "Brasil" e "cachaa do
Brasil" como indicaes geogrficas, de uso restrito aos produtores estabelecidos
no Pas.
2002 - Decreto 4.072: Nova redao ao artigo 91 do Regulamento da Lei
8.918/94, assim definindo o substantivo cachaa:
Cachaa a denominao tpica e exclusiva da aguardente de cana produzida
no Brasil, com graduao alcolica de 38 a 48% em volume, a 20
o
C e com
caractersticas sensoriais peculiares".
2003 - Publicao do Decreto 4.851: Revogao do Decreto n. 4.072/2002,
A Cachaa ficou assim definida :
Cachaa a denominao tpica e exclusiva da aguardente de cana produzida no
Brasil, com graduao alcolica de 38 a 48 % em volume, a 20
o
C, obtida pela
destilao do mosto fermentado de cana-de-acar com caractersticas sensoriais
peculiares, podendo ser adicionada de acares at 6,0 g/L, expressos em
sacarose.
2005 Instruo Normativa n.13, do MAPA: Regulamento Tcnico para Fixao
dos Padres de Identidade e Qualidade para Aguardente de Cana e para
Cachaa.
Caracterizao da Bebida
HISTRICO - Legislao
3
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
PRODUO ATUAL
3 bebida alcolica mais
consumida no mundo
MG: produo artesanal/alambiques
So mais de 8.466 produtores
Produo de 180 milhes L/safra
85% deles atuando na informalidade.
Mais de 5 mil marcas registradas e cerca
de 30 mil produtores.
8%
8% 44%
12%
8%
12%
4%
2%
2%
RJ
GO
SP
PE
MG
CE
PR
BA
PB
1,3 bilho de litros por ano, nmero estvel durante os ltimos anos
Dados oficiosos estimam que a produo real
seja prximo de 3,0 bilhes de litros por ano.
Receita gerada: US$ 500 milhes.
SP: maior produo, 44%
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
EXPORTAES
Principais pases importadores, em 2005:
Alemanha; 20,03%
Portugal; 12,35%
Itlia; 5,34%
Espanha; 5,06%
Frana; 4,08%
EUA; 10,46%
Paraguai; 5,76%
Argentina; 4,32%
Uruguai; 5,40%
Holanda; 4,78%
Volume exportado: 10 milhes de litros
4
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
CARACTERIZAO DA CACHAA
H
2
O: > 51 % em volume
C
2
H
5
OH: 38 a 48 % em
volume (ou
o
GL)
Composio da cachaa
< 1 % em volume (com base no mximo permitido)
Substncias responsveis pelo buquet caracterstico
Mais de 250 compostos j identificados
Congneres,
Sacarose e Contaminantes
metanol, 1,4-butanodiol, lcool 2-feniletlico, lcool amlico, lcool cetlico,
lcool cinmico, n-decanol, geraniol, lcool isoamlico, isobutanol, mentol,
n-butanol, n-dodecanol, n-propanol, n-tetradecanol, propionato de amila,
acetato de etila, benzoato de etila, heptanoato de etila, valerato de
isoamila, propionato de metila, butirato de propila.
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
CARACTERIZAO DA CACHAA
Cromatografia Gasosa de Alta Resoluo
Detector de Ionizao em Chama (HRGC-FID)
5
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
CARACTERIZAO DA CACHAA
Instruo Normativa n
o
13, de 29 de junho de 2005, do MAPA
Aguardente de Cana
Graduao alcolica: 38% a
54% vol.(20 C), obtida do
destilado alcolico simples de
cana-de-acar ou pela
destilao do mosto
fermentado do caldo de cana-
de-acar.
Pode ser adicionada de
acares at 6 g/L, expressos
em sacarose.
Cachaa
Denominao tpica e exclusiva
da Aguardente de Cana
produzida no Brasil
Graduao alcolica: 38% a 48%
vol.(20 C)
Obtida pela destilao do mosto
fermentado do caldo de cana-de-
acar com caractersticas
sensoriais peculiares, podendo ser
adicionada de acares at 6 g/L,
expressos em sacarose.
IN 13
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
PADRES DE IDENTIDADE E QUALIDADE
Envelhecimento:
Deve conter, no mnimo, 50% de Cachaa ou Aguardente de Cana
envelhecida em recipiente de madeira apropriada, com capacidade
mxima de 700 litros, por um perodo no inferior a um ano, submetida
ao controle oficial (lacre do MAPA). Substncias fenlicas devem ser
detectadas.
Coeficiente de Congneres:
No poder ser inferior a 200 mg/100 mL e superior a 650 mg/100 mL de
lcool anidro.
- 360
Soma dos lcoois isobutlico (2-metil
propanol), isoamlicos (2-metil-1
butanol3 metil-1-butanol) e n-proplico
(1-propanol)
- 5 Soma de Furfural e Hidroximetilfurfural
- 30 Aldedos totais, em acetaldedo
- 200 steres totais, expressos em acetato de
etila
- 150 Acidez voltil, expressa em cido actico
Mnimo
(mg/ 100 mL de lcool anidro)
Mximo
(mg/ 100 mL de lcool anidro)
Congnere
6
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Limites para os principais contaminantes:
Orgnico
3,0 lcool n-butlico (1-butanol)
10,0 lcool sc-butlico 2-butanol)
5,0 Acrolena (2-propenal)
0,150 Carbamato de etila
20,0 Metanol
Valor mximo permitido
(mg/ 100 mL de lcool anidro)
Contaminante
0,100 Arsnio (As)
0,200 Chumbo (Pb)
5,0 Cobre (Cu)
Inorgnico
PADRES DE IDENTIDADE E QUALIDADE
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Bagao
Transporte
Recepo e limpeza da cana-de-
acar
Moagem
Caldo bruto
Filtrao e decantao
Aproveitamento para
alimentao animal
Fermentao
Caldeira ou fornalha
Diluio para ajuste do
o
Brix
Cabea Cauda Corao
Separao das fraes
Destilao
Envase
Armazenamento ou
Envelhecimento
Cachaa
Coluna de destilao para
produo de lcool ou
enriquecimento do vinho
para Bidestilao
Vinhaa
Fertirrigao
Colheita da cana-de-acar e pr-
limpeza
Fluxograma do processo
7
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
9. ROTULAGEM
9.5. Fica vedado o uso da expresso Artesanal como
designao, tipificao ou qualificao dos produtos
previstos no presente Regulamento Tcnico, at que se
estabelea, por ato administrativo do Ministrio da
Agricultura, Pecuria e Abastecimento, o Regulamento
Tcnico que fixe os critrios e procedimentos para
produo e comercializao de Aguardente de Cana e
Cachaa artesanais.
PADRES DE IDENTIDADE E QUALIDADE
13. DISPOSIES TRANSITRIAS
13.1.Fica estabelecido o prazo mximo de 01 (um) ano para
adequao da rotulagem e da embalagem.
13.2.Fica estabelecido o prazo de 03 (trs) anos para adequao
e controle dos contaminantes citados nos itens 5.1.3, 5.1.4,
5.1.5, 5.2.2 e 5.2.3.
13.3.Fica estabelecido o prazo de 05 (cinco) anos para adequao
e controle do contaminante citado no item 5.1.2.
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Classificao botnica da cana-de-acar
Diviso: Embryophita siphonogama
Subdiviso: Angiospermae
Classe: Monocotyledoneae
Ordem: Glumiflorae
Famlia: Poaceae
Gnero: Saccharum
Espcies: mais de 32 conhecidas
utilizadas em melhoramento gentico: Saccharum officinarum, S.
spontaneum, S. barberi Jesw, S. sinense Roxb, S. robustum Jesw.
Nome oficial: Saccharum spp
Variedades utilizadas: POJ (Pura de origem Javanesa), RB (Repblica do
Brasil): RB 711406, RB 72454, RB 739359, RB 739735, RB 765418,
RB 835486, CB (Campo Brasil): CB 45-3, CB 47-355, Mulata, Pelada,
SP (So Paulo): SP 791011, IAC (Instituto Agronmico de Campinas),
Uva, CO (Indiana), Caiana, NA (Norte Argentino), Cavalo, CO
(Coimbra), Caninha...
CULTURA DA CANA-DE-ACAR
8
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
COMPOSIO QUMICA MDIA DOS COLMOS
0,3 - 0,8 Cinzas
0,15 - 0,25 Substncias pcticas e gomas
0,1 - 0,15 cidos orgnicos
0,15 - 0,25 Lipdeos (gorduras e ceras)
0,3 - 0,6 Compostos nitrogenados
1,5 - 2,5 Lignina
1,8 - 2,3 Hemicelulose
5,0 - 6,5 Celulose
7,0 - 17,0 Fibras
0 - 0,6 Frutose
0,2 - 1,0 Glicose
11,0 - 18,0 Sacarose
12,0 - 18,0 Acares
65,0 - 75,0 gua
Quantidade (g/100g) Componente
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
VARIEDADES
Caractersticas importantes
para escolha de variedades:
Maturao (tardia, mdia ou precoce)
Teor de sacarose
Exigncia de fertilidade do solo
Boa brotao em soqueiras
Bom perfilhamento e difcil tombamento
Resistncia a doenas
Ausncia de florescimento/chocamento
Ausncia de joal
Fcil despalha
Variedades que so boas para produo
de acar e lcool, so boas para cachaa.
9
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
VARIEDADES QUANTO AO PERODO DE MATURAO
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun ...
CANA DE ANO-E-MEIO
Brota e inicia o desenvolvimento durante os 3 meses favorveis (janeiro a maro).
Repousa de abril a agosto.
Vegeta intensamente de setembro a maro.
Amadurece no inverno (3-4 meses).
Vantagens:
Maior nmero de meses para o crescimento vegetativo, garantindo maior produo;
Melhor distribuio da mo-de-obra, pois o plantio e a colheita no coincidem;
Melhor controle de plantas daninhas;
Menores problemas fitossanitrios;
Possibilidade de rotao com culturas de ciclo curto;
Melhor escoamento da colheita.
Brota Crescimento
vegetativo intenso
Maturao Repouso
vegetativo
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Principais vantagens:
Produo mais rpida do primeiro corte;
Melhor brotao das socas;
Corte ocorre durante o perodo de condies climticas favorveis.
out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set
CANA DE ANO
VARIEDADES QUANTO AO PERODO DE MATURAO
Brota e se desenvolve nos meses de outubro e novembro;
Entre maro e abril inicia o processo de maturao;
Aps o corte, o ciclo da soca de 12 meses.
Brota Maturao Vegetao
10
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Variedades de cana-de-acar apresentam maturao em diferentes
pocas do perodo de safra.
Precoces:
Caractersticas mais
adequadas para serem
processadas no incio da
safra, entre os meses de
maio e junho.
Superprecoces:
apresentam tais
caractersticas a partir de
abril.
Ex: RB 76-5418,
RB 85-5453, SP 80-1842
Mdias:
Indicadas para
processamento no
meio da safra, entre
julho e setembro
novembro.
Ex: SP 70-1143,
SP 79-1011, CB 45-3
VARIEDADES QUANTO AO INCIO DA MATURAO
Tardias:
Adequadas para o final
da safra, entre setembro
e novembro.
Ex: RB 73-9735,
RB 78-5148, RB 72-454,
SP79-2313, SP 79-6192
Pode-se indicar uma distribuio das
variedades em:
20% para as precoces
60% para as mdias
20% para as tardias.
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
FATORES INTERFERENTES
Diversos fatores interferem para um bom desempenho do canavial:
Variedade da cana
Adaptabilidade ao ambiente
Condies edficas (caractersticas gerais do solo)
Sistema de produo empregado (preparo de solo, plantio e tratos culturais)
Colheita, carregamento, transporte
Condies climticas
Elevados ndices
pluviomtricos
Altas temperaturas
Solo seco
Temperaturas baixas
Brotao, perfilhamento e crescimento.
Repouso fisiolgico e, conseqentemente,
o acmulo de sacarose nos colmos,
alcanando assim a maturao.
IDEAL QUE TENHAMOS UMA POCA QUENTE E
CHUVOSA, SEGUIDA DE OUTRA MAIS FRIA E SECA.
11
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
EFEITOS DO FRIO SOBRE A CULTURA DA CANA
Temperaturas inferiores a 10
o
C:
Provocam danos por resfriamento
Folhas com colorao verde azulada e estrias clorticas
em folhas de mesma idade fisiolgica.
Efeito das Geadas:
Cana de ano-e-meio: Afeta as folhas e gemas apicais, impossibilitando o
crescimento (quando com 4 -5 meses de idade) ou inicia um processo de
deteriorao do pice para a base (quando com 16 - 17 meses de idade).
Cana de ano: Geada atingir a planta entre 9 e 10 meses de idade, onde
a cana ainda est imatura.
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Riqueza em matrias orgnicas e inorgnicas interferem diretamente
no desenvolvimento, crescimento, maturao e produtividade da
cana-de-acar.
Melhoramento gentico, pode ser corrigida qualquer limitao quanto
fertilidade.
Limitaes fsicas existentes para o desenvolvimento:
Profundidade efetiva menor que 1,0 m
Lenol fretico alto
Solos excessivamente argilosos ou mal drenados
Solos arenosos
Inclinao do terreno acima de 15
o
.
FATORES INTERFERENTES
TIPOS DE SOLO
12
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Fotoperodo:
Fator a ser considerado na cultura para o perfilhamento e
crescimento da cana planta.
Quanto mais luminosidade, melhor o perfilhamento e maior o
crescimento da planta.
No exerce influncia sobre a cana soca.
Ventos fortes:
So responsveis pelo tombamento da cana,dilacerao das folhas e
transpirao excessiva.
quebra-ventos
Em algumas localidades onde os ventos so mais intensos,
importante o plantio de rvores especficas em torno da rea
plantada para minimizar este problema.
FATORES INTERFERENTES
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
DETERMINAO DO GRAU DE MATURAO
CACHAA
Qualidade da cana processada
Teor de acares (sacarose, glicose e frutose)
por ocasio da colheita.
Essencial que a colheita se processe quando os
colmos estejam com maior acmulo de acares,
ou seja, bem maduros.
Mxima maturao:
Quando o seu crescimento encontra-se drasticamente reduzido, o que ocorre
em condies de dficit hdrico acentuado, que potencializado quando
tambm por baixas temperaturas.
13
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
De posse destas informaes, pode-se estabelecer as
condies iniciais e finais da qualidade da matria-prima
a ser processada atravs da definio do PUI - Perodo
til de Industrializao.
importante conhecer o comportamento de cada
variedade quanto ao acmulo de sacarose atravs da
curva de maturao.
DETERMINAO DO GRAU DE MATURAO
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
PUI - Tempo em que a variedade poder ser processada com
melhores condies qumico-tecnolgicas e, consequentemente,
melhores retornos econmicos.
Variedades podem ser classificadas como de PUI curto, mdio ou
longo, em funo do perodo ser em torno de 60, 90 ou 120 dias
respectivamente.
o
Brix
Tempo (meses)
18
24
PUI
Maio Agosto
Descendncia: no se corta
Produo de compostos
secundrios pela degradao
da sacarose.
(Cana passada)
DETERMINAO DO GRAU DE MATURAO
Pico de Maturao
14
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
DETERMINAO DO GRAU DE MATURAO
Outros mtodos utilizados:
Aspecto do canavial:
Muito utilizado por produtores artesanais, um critrio falho e sem
consistncia tcnica, pois a aparncia visual da planta bem distinta entre
as variedades o que leva a interpretaes errneas. Outros fatores que no
a maturao podero promover a seca e tombamento das folhas basais e o
amarelamento progressivo das outras folhas;
Idade do canavial:
Critrio tambm falho, especialmente considerando maturao das
variedades nas diferentes regies e das diferentes pocas de plantio e
colheita.
ndice de Maturao (IM):
Anlise por amostragem do teor de acares, utilizando-se aermetro ou
refratmetro de campo.
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
IM ndice de Maturao
Deve-se considerar:
Teor de sacarose cresce com o aumento do
o
Brix
Acmulo de sacarose nos colmos ocorre da base
para a ponta da cana.
As canas bem maduras apresentam teor de sacarose nos interndios
da ponta que se aproximam aos do meio, ligeiramente menores que
os da base.
O caldo para a determinao coletado entre o 3
e 4
interndio da base
e do ltimo interndio desenvolvido da ponta, em 12-15 colmos
representativos do talho.
IM=
o
Brix ponta/
o
Brix base
IM < 0,6 = cana verde
IM entre 0,6 -0,7 = maturidade baixa, 0,7 - 0,85 = maturao mdia
IM > 0,85 at 1,0 = cana madura.
DETERMINAO DO GRAU DE MATURAO
15
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
A colheita da cana-de-acar reflete todo o trabalho
desenvolvido e conduzido no campo ao longo do ciclo da cultura,
culminando na entrega da matria-prima para que a mesma seja
processada e contribua na obteno de um produto final de qualidade
(ANDRADE, 2004).
Colheita da cana-de-acar
Provoca exudao de acares na regio da casca e propicia a
evaporao de gua.
Estes acares podem se perder quando se realiza o processo de
lavagem dos colmos na indstria utilizada para eliminar as
impurezas como a terra que fica aderida ao colmo devido
exudao (MUTTON, 2005).
Ainda como efeito negativo da queima da folhagem, podemos citar
a formao do furfural e do hidroximetilfurfural no prprio caldo da
cana, como conseqncia da desidratao parcial de pentoses e
hexoses livres no caldo ou no bagao (MAIA, 1994).
Efeitos da queimada
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
RECEPO DA MATRIA-PRIMA
Como forma de prevenir contaminao e evitar a
degradao devido ao contato com o solo, recomendvel que
se descarregue a cana colhida sobre uma mesa suspensa,
devidamente adaptada com cordas ou correntes, a fim de facilitar
a descarga.
Requisitos bsicos de higiene para
proteo contra contaminaes.
Perda da qualidade da
cana devido
deteriorao e formao
de lcoois superiores.
! t mximo entre
recepo da cana e
moagem
24 h
16
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
MOAGEM
Ainda se perde muito acar produzido
no campo atravs das diferentes fases
operacionais at o produto final.
O baixo desempenho do conjunto de
extrao representa uma das elevadas
perdas.
Principais fatores que
interferem no processo:
Regularidade e uniformidade na
alimentao dos colmos na moenda
Regulagem da moenda
Velocidade dos cilindros
Tipos de ranhuras
Uso de soldas nos cilindros
Porcentagem de fibra da cana
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
MOAGEM
Caldo, rico em aucares,
gua etc.
Bagao, rico em fibras
Eficincia da extrao =
quantidade de caldo extrado
quantidade total de caldo presente
nos colmos
ndices cada vez maiores devem ser perseguidos, pois a
quantidade de lcool futuro est diretamente relacionada com a
quantidade de acar extrado do caldo.
Escolha da moenda
adequada deve
contemplar, alm da
capacidade de extrao:
Isolamento de leos e graxas da rea de operao
Facilidade de higiene e limpeza aps operao
diria
Facilidade na aquisio de peas para reposio,
Assistncia e manuteno tcnica
17
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
PREPARO DO CALDO
Design do equipamento: Fcil limpeza e a higienizao.
Indispensvel o uso de peneiras de malhas finas e decantador
para a retirada das impurezas.
Material de constituio: ao inox
(inerte a composio do caldo)
Aps esta filtragem, o caldo
encaminhado a um decantador
onde as impurezas como terra e
bagacilho so separadas do caldo.
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
PREPARO DO CALDO
Decantador
Tanques para o ajuste de Brix
Dornas de fermentao
14 e 16
o
Brix
Acima de 16
o
Brix necessrio diluir o caldo para o bom
andamento do processo fermentativo.
H
2
O
Caldo no diludo
Fermentaes incompletas, mais lentas e
com formao de compostos indesejveis
no produto final.
18
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
FERMENTAO ALCOLICA
Ponto crtico do processo de fabricao da cachaa.
Compostos formadores do aroma que caracterizam a
bebida so formados nesta etapa.
Do latim: fervere, descreve a aparncia da ao
das leveduras no mosto.
Definio: Processo de oxidao anaerbia parcial da glicose
Leveduras de fermentao alcolica so facultativas.
Padro metablico
caracterizado por:
Reproduo: em presena de O
2
(especialmente sem etanol)
Fermentao: ausncia de O
2
,secretando etanol e CO
2
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
FERMENTAO ALCOLICA
Dentre um grupo de mais de 250 compostos, temos
aqueles conferem o bouquet bebida, so os
chamados congneres.
lcool etlico ou etanol
Principal produto da
Fermentao
gs carbnico outros metablitos co-produzidos
Glicerol
Aldedos
steres
cidos orgnicos
Materiais para
constituio da
biomassa e produtos
para sobrevivncia e
adaptao da
levedura ao meio.
O que diferencia a cachaa de uma mistura
hidroalcolica qualquer exatamente a presena dos
congneres em propores equilibradas.
19
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
FERMENTAO ALCOLICA
Sistemas de fermentao
Batelada simples: mais utilizado por pequenos alambiques
Momento da introduo do incuo
(p de cuba) no substrato.
Tempo zero de fermentao =
1
fase: incubao em condies timas de crescimento
2
fase: fermentao,
nada adicionado ao
sistema, exceto:
O
2
, necessrio na fase inicial para formao de
biomassa microbiana;
Antiespumante, quando requerido
Solues cidas ou bsicas para ajuste de pH
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
FERMENTAO ALCOLICA
Sistemas de fermentao
Batelada alimentada: sistema Melle-Boinot
Adio de nutrientes ou substrato de maneira escalonada, de acordo
com o progresso da fermentao.
Represso por altas concentraes de
carboidratos ou compostos nitrogenados Formao de muitos
metablitos secundrios
Adicionados em pequenas
concentraes durante toda a
fermentao
Mais utilizado em
destilarias de lcool
combustvel
20
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
FERMENTAO ALCOLICA
Sistemas de fermentao
Sistema Contnuo:
Adio contnua de
soluo nutritiva estril
ao biorreator
Quantidade equivalente
da mistura de substrato
utilizado, nutrientes e
microrganismos sai do
aparelho
Maiores
produtividades
Menores problemas
operacionais
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
FERMENTAO PARA PRODUO DE CACHAA
2 Etapas
Propagao da levedura
Fermentao
Processo
Fermentativo
Fermentao
inicial
Fermentao
principal
Fermentao
final
Propagao da levedura:
Intensa aerao em caldo diludo (5
o
Brix)
Altas concentraes
prejudicam a
respirao celular
21
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Maioria dos alambiques: propagao emprica
FERMENTAO PARA PRODUO DE CACHAA
Presena de bactrias que interferem negativamente no processo
Como evitar Efeito Bactria
Produz gs sulfdrico a partir de
aminocidos sulfurados.
Bactrias sulfdricas
Produz butanol e acetona a partir do
acar.
Batrias acetobutlicas
No deixar a cana prxima
a estbulos ou locais de
ordenha
Aumenta acidez voltil do vinho
(cido ltico), compromete o sabor.
Bactrias lticas
No deixar a cana ao sol
depois de cortada.
Separar o vinho do fermento
logo aps decantao.
Manter o vinho tampado at
a destilao.
Aumenta acidez voltil do vinho
(cido actico)
Bactrias acticas
No queimar a cana
No deixar a cana ao sol
depois de cortada
Aumenta viscosidade, diminui
produo de etanol, prejudica
decantao.
Leuconostoc
mesenteroides
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
FERMENTAO - 2
etapa
Fermentao inicial
Caldo adicionado deve ter entre 14 e 16
o
Brix,
obtido do preparo.
Mosto apresenta uma quantidade de O
2
necessrio
para multiplicao inicial das leveduras nesta fase.
Fermentao principal
Iniciada quando o O
2
mosto termina.
Diminuio da multiplicao celular.
Produo de enzimas para transformao
dos acares em etanol.
Com o desprendimento de gs carbnico,
observa-se a formao de bolhas.
Aroma caracterstico, aumento acentuado da temperatura, queda do Brix e
aumento do grau alcolico.
22
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
FERMENTAO PARA PRODUO DE CACHAA
Fermentao final :
Formao de bolhas comea a diminuir.
Temperatura cai vagarosamente, porm ainda temos um pequeno
desprendimento de gs carbnico.
Trmino
Paralisao total do desprendimento de gs carbnico
Desaparecimento das bolhas
Retorno da temperatura ambiente
Estabilizao do valor do Brix muito prximo a zero
espelhamento
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
FERMENTAO Preparo do p de cuba
O volume inicial de fermento utilizado deve estar prximo de
20% do volume da dorna de fermentao
P de cuba
P de cuba selvagem: (fermento caipira)
Utiliza-se leveduras presentes naturalmente no meio ambiente.
Modo de preparo:
Pasta formada por farelo de arroz, fub, bolacha, suco de limo ou laranja
azeda. Adio de caldo de cana diludo, alternadamente com intervalos de
24 horas. Repete-se a operao at que o p-de-cuba seja
correspondente a 0,2% do volume de mosto a ser fermentado na dorna.
Inconvenientes: nmero enorme de contaminantes e longo perodo
necessrio para alcanar o volume desejado.
23
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
FERMENTAO Preparo do p de cuba
Volume inicial do inculo, quando sedimentado, equivale a 20% do volume da dorna.
Composio mdia do inculo
3,6 x 10
9
UFC/mL de leveduras
3,6 x 10
4
UFC/mL de bactrias
Tolerncia s condies ambientais
Altas concentraes
de acares
Baixos valores de pH
Altas concentraes
de etanol
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
FERMENTAO Preparo do p de cuba
P de cuba com levedura selecionada
Diversidade de microrganismos
Oscilaes na
qualidade da bebida ao
longo da safra
Linhagens selecionadas de
Saccharomyces cerevisiae,
isoladas de alambiques
Escolha implica no
conhecimento de suas
caractersticas
24
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
FERMENTAO Seleo de leveduras
Incio rpido da
fermentao
Produo de
fator Killer
No produzir
espuma excessiva
Tolerncia a altas
temperaturas
Caractersticas
de floculao
Produo mnima
de SO2
No produzir
cido actico
Tolerncia a alta
presso osmtica
Alto rendimento alcolico
e boa produtividade
em etanol
Tolerncia a alta
concentrao de etanol
Relativa resistncia
para baixo valor de pH
Baixo requerimento de
vitaminas, cidos graxos
e oxignio
Fermentar rapidamente e
completamente o caldo
Produzir componentes
do aroma (cidos orgnicos,
steres)
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Preparo de p de cuba com leveduras selecionadas consiste na
propagao do inculo a partir de uma cultura pura de laboratrio.
Poro da
cultura
100 mL de caldo 5
o
Brix,
enriquecido e estril
10% do volume da
dorna
400 mL de caldo 7
o
Brix
FERMENTAO Preparo do p de cuba
25
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
FERMENTAO Leveduras selecionadas
Vantagens do uso de
leveduras selecionadas
Minimizao de culturas indesejveis
Reduo do tempo de fermentao
Rendimento alcolico elevado
Produto final uniforme e de tima qualidade
Exigncia:
Condies sanitrias asspticas
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Fatores interferentes na fermentao
Exigncias nutricionais: garantia da viabilidade celular
Substncias orgnicas:
Vitaminas (biotina, cido pantotnico, tiamina, cido nicotnico e outras)
cidos graxos insaturados, responsveis pela manuteno da fisiologia
celular.
Substncias inorgnicas:
Nitrognio: sntese de aminocidos a cidos nucleicos
Fsforo: metabolismo de carboidratos e lipdeos (ATP e cidos nucleicos)
Enxofre: componente essencial a alguns aminocidos,enzimas e coenzimas
Potssio: controle de pH intracelular e aumenta da tolerncia a ons txicos
Magnsio: ativa assimilao dos acares, protege as clulas contra
modificaes ambientais
Zinco, ferro, cobre, mangans e clcio: estimulao da via metablica,
atuao no anabolismo
26
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Fatores interferentes na fermentao
Fatores fsico-qumicos, concentrao de substrato e presena de
contaminantes afetam a fermentao
Aerao (Agitao):
Necessria na fase de propagao, facilitando o aumento do nmero de
clulas. Na fase fermentativa, condies anaerbias so exigidas.
O gs carbnico formado no metabolismo da sacarose auxilia para a
manuteno da anaerobiose na dorna de fermentao.
Concentrao de acares:
Afeta tanto a produo da biomassa celular da levedura como o processo
de fermentao.
Multiplicao: caldo bem diludo, para evitar fermentao e represso
catablica
Aumenta-se gradativamente a concentrao conforme a massa celular
atinge nveis adequados ao processo.
Inibio da multiplicao e induo a fermentao (efeito Crabtree)
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Fatores interferentes na fermentao
Temperatura:
Temperatura ideal, levedura no selecionada: 25 a 30
o
C.
Temperatura tima para a multiplicao geralmente inferior a tima para
fermentao.
Em teor alcolico superior a 5%: efeito da temperatura drstico.
Abaixo de 25
o
C: diminuio da atividade da levedura.
27
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Fatores interferentes na fermentao
pH:
Correlao entre acidez do mosto e velocidade de crescimento da levedura
Crescimento timo: pH 5,0 a 6,0
Produo de etanol: pH 4,5
pH do caldo de cana: 5,5
Necessria acidificao antes da inoculao para favorecer a fermentao
e prevenir crescimento de bactrias contaminantes.
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Destilao
Etapa responsvel por separar todas as
substncias de interesse formadas pela
fermentao, por este motivo
considerada de extrema importncia para
obteno de uma cachaa de qualidade.
Primeiros aparelhos de destilao.
Foram os rabes que, em meados do sc. VII introduziram a tcnica na Europa
para obteno de bebidas com teor alcolico mais elevado.
Espirituosas (spirit) - nomenclatura associada Alquimia.
Atravs da destilao era extrada a essncia, a alma, o esprito da fruta ou erva
que compunha o mosto.
28
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Destilao - processo
Vinho
(mosto fermentado)
destilado
fraes do
destilado
cachaa
cabea
corao
cauda
vinhaa
(concentraes quase
nulas de lcool e
acares)
substncias no
volteis do mosto,
como nutrientes,
principalmente
potssio
adubao da cultura
da cana-de-acar
(fertirrigao)
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Destilao
Vinho: 7 12% em volume de etanol
Temperatura de ebulio entre 92,6 e 95,9
o
C
Separao das fraes deve ser realizada com base
na Temperatura de Ebulio das substncias
Cabea
Corao
Cauda
P.E. superior ao do etanol
Metanol, aldedos (acetaldedo) e
steres (acetato de etila e metila)
P.E. inferior ao etanol
Compostos fenlicos, cidos orgnicos
P.E. intermedirio
Frao de interesse para composio
do produto final
5%
80%
15%
> 60
o
GL
60 a 40
o
GL
38 a 14
o
GL
29
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Temperatura de ebulio - Componentes da cachaa
163 cido butlico
99 lcool butlico
97 lcool proplico
83 lcool iso-proplico
82,5 lcool iso-butlico
118 cido actico
100 gua
128 lcool iso-amlico
167 Furfural
78,3 Etanol
74,3 Acetato de etila
57 Acetato de metila
21 Aldedo actico
Temperatura normal
de ebulio (em
o
C)
Componentes
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Destilao compostos secundrios
Compostos
secundrios
no destilado
Caractersticas do vinho (pH, acidez, vinho no
sedimentado)
Condies higinico-sanitrias
Durao da destilao
Temperatura de aquecimento
Tamanho do alambique
Vinhos com sedimentos:
Contm cidos graxos de cadeia longa
(integrantes das clulas das leveduras)
Off Flavor
Sabor de sabo
30
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Alambiques mal dimensionados
Altas concentraes de compostos secundrios.
Sabores densos e pesados ao produto (heavy flavors).
Reaes entre acares e compostos amino do vinho
Formao de furfural, furanos, piridinas e pirazinas.
Acrolena (2-propenal)
Odor penetrante e apimentado.
Desidratao do glicerol, formado por bactrias na
fermentao, na presena de cido, quente, quando
em contato com superfcies metlicas da coluna.
Txica e irritante s narinas.
Destilao compostos secundrios
C C C
H
O
H
H
H
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Furfural e hidroximetil furfural
So formados na destilao e no na fermentao, em
alambiques com aquecimento a fogo direto.
Destilao compostos secundrios
Furfural e lcoois
superiores
Independentes do ponto de
ebulio, esto presentes em
todas as fraes do destilado
Compostos hidroflicos
Destiladores contnuos no apresentam formao.
Hidrodestilao: Arraste de compostos pelo vapor de gua
O
H
O O
H
O
O
H
H
31
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Destilao - Tipos de destiladores
Destilao simples (batelada): Alambiques
Produo mxima: 2400 L/dia
Material de constituio: Cobre
Vantagens Desvantagem
Malevel
Bom condutor trmico
Resistente corroso
Catalisa reaes favorveis
entre os compostos do vinho
Melhora sensorial do destilado
Formao de azinhavre (carbonato bsico
de cobre)
[CuCO
3
Cu(OH)
2
]
Provocando contaminao do destilado
por ons cobre
Diminuio significativa de
compostos sulfurados, responsveis
pelo odor de ovo podre no produto.
Dimetilsulfeto
CH
3
-S-CH
3
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Destilao - Partes do alambique
Alonga
Caldeira
32
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Destilao - Partes do alambique
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Destilao
Desvantagens dos destiladores de um s corpo
Tempo de produo elevado, devido a espera do aquecimento do vinho;
Maior gasto de combustvel;
Maior consumo de gua para resfriamento;
Ciclo de destilao anti-econmico, longo;
Pode acarretar em grandes concentraes de compostos secundrios
pela dificuldade de separao das fraes;
Baixo rendimento
33
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Destilao Trs Corpos
Caldeira de
esgotamento
Aquecedor
do vinho
Caldeira de
destilao
Condensador
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Coluna de destilao
Utilizadas por mdios e grandes
produtores.
Grande nmero de pratos
permite um maior controle
sobre a quantidade de
congneres no destilado e
tambm maior rendimento
alcolico.
Inicialmente utilizado somente
para a produo de lcool
combustvel.
Precisou sofrer diversas
adaptaes para a produo de
cachaa, pois o lcool
produzido era de elevada
graduao, porm pobre em
componentes secundrios.
34
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Coluna de destilao
Funcionamento da destilao contnua:
Pratos: proporcionam o refluxo desejvel
n
o
de pratos refluxo [lcool]
Colunas de Baixo grau:
40 -60 % v/v
Colunas de Alto grau:
At 95 % v/v
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Bidestilao
Obteno do flegma
(1
destilao)
Coleta do destilado at 5% de lcool (volume)
Volume mdio de lcool no flegma: 21 %
vinho flegma
Cachaa
bidestilada
1
destilao 2
destilao
2
destilao
Redestilao do flegma e Fracionamento
Cabea - 70 % (teor alcolico mdio)
Corao 65 %
Cauda final do corao at 5 %
vinho Recuperao do lcool
cabea +cauda
20 30%)
35
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Anlises fsico-qumicas - Controle de Qualidade
Grande variao qualitativas e
quantitativas dos compostos obtidos
pela fermentao.
Falha na separao das fraes.
Potencial de contaminao.
Falta de controle do processo.
Condies higinico-sanitrias
precrias.
Necessidade de anlises
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Anlises fsico-qumicas - Controle de Qualidade
Acidez voltil:
Origem: Contaminao da cana ou do prprio mosto por bactrias
acticas, levando a fermentao actica concomitante alcolica.
Problema: Bebida agressiva, desce queimando a garganta
Anlise: Destilao por arraste a
vapor (Kazenave-Ferr) seguida
por Volumetria de neutralizao.
cido actico
36
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Anlises fsico-qumicas - Controle de Qualidade
steres:
Origem:
Fermentao alcolica e principalmente nas reaes de esterificao entre
lcoois e cidos carboxlicos durante o processo de envelhecimento.
Problema:
Quantidades equilibradas bouquet
Grandes quantidades (>200mg/100mL EtOH) aroma enjoativo
Anlise:
Titulao dos cidos carboxlicos obtidos pela transesterificao.
Acetato de etila
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Anlises fsico-qumicas - Controle de Qualidade
Aldedos:
Origem:
1. Compostos formados durante a fermentao, a partir do piruvato,
provenientes de lcoois primrios que oxigenao relativa perdem dois
tomos de hidrognio do grupo funcional do lcool.
2. No separao da frao cabea.
3. Queima da cana desidratao parcial de aucares presentes
Problema:
Muito volteis, odor penetrante, Intoxicao pode ocasionar srios
problemas relacionados ao SNC
Anlise:
Mtodo titulomtrico direto com iodo em meio alcalino.
Acetaldedo
37
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Anlises fsico-qumicas - Controle de Qualidade
lcoois superiores:
Origem:
1. Transformaes dos aminocidos durante a fermentao.
2. Cana armazenada para depois ser moda.
3. Presena de ponta de cana para obteno do caldo.
4. Temperaturas altas e pH baixo (3,5 - 4,0) do mosto.
Problema:
Juntamente com os steres so responsveis pelo bouquet, porm, o
excesso (>360mg/100 mL EtOH) provoca depresso do SNC
Anlise:
Espectrmetro na regio visvel (540 nm)
lcoois com mais de 2 carbonos
(iso-amlico, proplico e butlico)
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Anlises fsico-qumicas - Controle de Qualidade
Problema:
oxidado a cido frmico e posteriormente a CO
2
provocando acidose
grave (diminuio do pH sangneo), cegueira, afeta sistema
respiratrio, podendo levar ao coma e morte
1,5 mL = cegueira 10 a 100 mL = variao da dose fatal
Anlise:
Espectrmetro (575 nm)
Origem:
Originado da degradao da pectina
Metanol:
38
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Anlises fsico-qumicas - Controle de Qualidade
Cobre:
Origem:
Falha na higienizao do alambique durante as paradas
Alonga em cobre
Problema:
Intoxicaes agudas: distrbios gastrointestinais, dores de cabea,
anemia hemoltica, falhas renais e hepticas.
Intoxicaes crnicas: distrbio nervoso associado cirrose heptica
em funo do acmulo de cobre no fgado.
Anlise:
Espectrmetro na regio visvel (546 nm).
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Anlises fsico-qumicas - Controle de Qualidade
Carbamato de etila:
Origem:
Existem vrias vias possveis para a formao de carbamato de etila nas
bebidas destiladas, geralmente envolvendo a reao entre o etanol e
precursores nitrogenados, tais como uria, fosfato de carbamila e cianeto.
Este ltimo considerado um precursor de carbamato de etila durante e
aps o processo de destilao.
Problema:
Composto potencialmente carcinognico
Anlise:
Muitas metodologias analticas vm sendo propostas para a determinao
de carbamato de etila em alimentos, todas empregando a cromatografia a
gs com diferentes dispositivos de deteco.
ANDRADE SOBRINHO, L.G. de, BOSCOLO, M., LIMA-NETO, B. dos S., FRANCO,
D.W. Carbamato de etila em bebidas alcolicas (cachaa, tiquira, usque e grapa).
Qumica Nova, v.25, n.6b, p.1074 1077, nov./dez. 2002
EtOCONH
2
39
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Anlises fsico-qumicas - Controle de Qualidade
Pb e As:
Origem:
Ligas metlicas, soldas e embalagens.
Problema:
Saturnismo infertilidade, distrbios neurolgicos e morte
Envenenamento agudo
Anlise:
Espectrofotometria de Absoro Atmica - AAS
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Anlises fsico-qumicas - Controle de Qualidade
gua contato direto com o produto deve ser potvel
Atender aos parmetros microbiolgicos, fsicos, qumicos e at
radioativos atendam ao padro de potabilidade e que no oferea
riscos sade, estabelecidos pela Portaria do Ministrio da Sade
n
o
518, de 25 de maro de 2004.
gua de abastecimento pblico atender a estes requisitos de qualidade,
contm cloro e flor que podem ocasionar a morte de leveduras
gua
Caractersticas so requeridas
conforme a finalidade a que se
destina a gua
Cor
Turbidez
Dureza total
Oxignio dissolvido
Ferro
Mangans
40
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Envelhecimento
Diversas reaes qumicas esto
associadas ao processo de
envelhecimento e maturao da cachaa.
Processo natural desenvolvido em recipientes
de madeira com capacidade mxima de 700 L.
Reaes tm como base a decomposio de macromolculas da madeira
(lignina, celulose e hemicelulose) e sua incorporao bebida, alm da
extrao dos compostos secundrios da madeira (gorduras, resinas,
substncias pcticas, inorgnicas).
Porosidade da madeira Trocas gasosas
Reaes que contribuem
para melhoria sensorial
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Envelhecimento
Aprimoramento das caractersticas sensoriais peculiares da cachaa
atravs da conservao da bebida em tonis de madeira.
Envelhecimento modifica
Colorao
Composio qumica
Dissoluo
Micro oxigenao
Incorporao
de extratos
da madeira
Bebida mais macia, atenua sensao desidratante do lcool
Aumento da
aceitao do
produto
41
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Envelhecimento
como qualquer bebida destilada cachaa nova transparente
alguns meses
tonalidade vanilada
1 a 2 anos
odor tpico da madeira e a
tonalidade mais acentuada
3 anos
Odor da cachaa se torna harmonioso.
No mais se distinguem com facilidade
as contribuies da fermentao ou da
madeira, devido associao entre os
componentes destas etapas.
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Envelhecimento
Armazenamento Envelhecimento
X
Quanto menor for o volume do recipiente, maior ser a relao madeira/cachaa,
42
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Envelhecimento
Madeiras mais utilizadas
Carvalho francs
Carvalho brasileiro
Amendoim
Blsamo ou cabreva
Vinhtico
Ip amarelo
Amburana
Grpia
Sassafrs
Louro freij
Castanheira do Par
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Envelhecimento
Caractersticas
desejveis a madeira
para o envelhecimento
de cachaa
1. Densidade: mdia alta
2. Permeabilidade: baixa
3. Cheiro: imperceptvel
4. Gosto: imperceptvel
5. Cor: depende do mercado
6. Durabilidade natural: alta
7. Trabalhabilidade: usinvel
Tilos: entupimento dos poros da madeira
43
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Anlise sensorial
Etapas bsicas para avaliar a qualidade de uma cachaa ou mesmo
apreci-la em sua plenitude:
1. Deve-se colocar uma quantidade de cachaa correspondente a 1/3
do volume da taa;
2. Inclina-se suavemente a taa de modo a melhor visualizar a
superfcie de cachaa a ser observada que se torna elptica e,
portanto, maior;
3. Contra um fundo branco (uma folha de papel, um guardanapo ou a
toalha da mesa) devem ser observados os seguintes aspectos
visuais:
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Aspectos visuais
Limpidez
Toda cachaa deve apresentar-se lmpida, isto , sem partculas em suspenso
e sem depsito.
Presena de partculas indica que o processo de produo, filtrao e
armazenamento da bebida no se apresenta devidamente higienizado.
Transparncia
No pode estar turva, deve apresentar-se transparente.
A turbidez na cachaa indica falha no processo de homogeneizao da bebida,
erros na conduo da destilao ou ainda corte alcolico realizado com gua
com elevada condutividade eltrica.
Brilho
Caractersticas de limpidez, viscosidade e transparncia reunidas causam
reflexos intensos nas cachaas, os quais podem apresentar um aspecto
brilhante. No um sinal absoluto de qualidade, mas as grandes cachaas em
geral apresentam brilho intenso.
Alguns alambiques utilizam filtros de carvo ativado para proporcionar o brilho
desejado bebida.
44
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Aspectos visuais
Aderncia do lquido nas paredes da taa
Toda cachaa de qualidade
deve apresentar.
Viscosidade
colar anel horizontal lgrimas.
Tenso superficial, evaporao de lcoois
superiores e demais compostos secundrios
presentes na cachaa.
Excesso de compostos secundrios
Fermentao mal conduzida
Separao incorreta da frao cabea
Graduaes alcolicas mais elevadas
Lgrimas demoram
excessivamente para escorrer
Lgrimas escorrem
rapidamente do colar
e sua formao no
se assemelha a filetes
Baixa graduao alcolica ou
indevida adio de gua
(cachaa aguada).
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Aspectos visuais
Amendoim: no transfere cor a bebida, mas proporcionam cachaa os
efeitos benficos do processo de envelhecimento, como reduo da
acidez e ampliao do aroma.
Uso de caramelo e at mesmo extrato de carvalho, apesar de ilegal, para
correo da cor.
Cor
Pode conduzir a erros de avaliao.
Cores:
Castanho-claro, castanho-escuro, castanho-avermelhado, amarelo-claro,
amarelo-palha, amarelo-ouro, amarelo-esverdeado e alaranjado so
algumas das cores de compostos contidos nas madeiras, os quais so
solubilizados pela cachaa.
Pode ser mais ou menos intensa, de acordo com o tempo de
envelhecimento, a espcie da madeira, condies do tonel e do ambiente
onde se desenvolve o processo.
45
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Aroma
Aspirando pequenas quantidades dos odores expelidos pela bebida
ou esfregar uma ou duas gotas na palma da mo, esperar alguns
instantes para o lcool evaporar e depois sentir o odor deixado.
Compostos qumicos, sobretudo steres, formados durante a fermentao e
o envelhecimento (caso tenha) so responsveis pelos aromas percebidos.
No deve provocar ardor na boca e nariz, ou lgrimas nos olhos.
Aroma extremamente
alcolico
Concentraes desarmoniosas de
compostos secundrios
Aroma picante Falhas durante a fermentao ou destilao
odor penetrante e enjoativo
Utilizao de cana queimada e presena
de bagacilho no alambique (furfural)
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Gosto
gosto olfato
Os alimentos, ao penetrarem na boca,
liberam odores que se espalham pelo nariz.
Os sabores so percebidos quando o paladar
e o olfato trabalham em conjunto.
Receptores gustativos
Excitados por substncias
qumicas existentes na cachaa
Receptores olfativos
Excitados por substncias qumicas volteis
Papila gustativa
receptor sensorial do paladar
Dissolvida no lquido bucal e
difundida atravs do poro gustativo
em torno das microvilosidades.
Substncias altamente solveis e difusveis (sais e compostos com
molculas pequenas) fornecem graus gustativos mais altos do que
substncias pouco solveis difusveis (protenas e molculas maiores).
46
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Gosto
Quatro Sensaes Gustativas-Primrias
salgado
Azedo/cido
doce
amargo
At ltimos anos:
4 tipos inteiramente diferentes de
papila gustativa, cada qual detectando
uma das sensaes gustativas
primrias particulares.
Agora:
Todas as papilas possuem alguns
graus de sensibilidade para cada uma
das sensaes gustativas primrias.
Entretanto, cada papila normalmente
tem maior grau de sensibilidade para
uma ou duas das sensaes
gustativas. O crebro detecta o tipo de
gosto pela relao (razo) de
estimulao entre as diferentes papilas
gustativas.
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Gosto
Gole no exagerado na boca e deixando-a girar lentamente
no seu interior, de modo a permitir que ela entre em contato
com todas as regies da lngua que so diferentes em
relao percepo dos sabores.
Deve ter sabores agradveis, de boa intensidade e
compatveis com o tipo da cachaa, por exemplo, em uma
cachaa nova no se espera encontrar sabor amargo ou
doce.
Gustao da cachaa
47
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Sensaes Complexas
PERSISTNCIA:
Tempo de durao da sensao de
retrogosto. Pode variar de menos que
3 minutos at mais 8 minutos.
RETROGOSTO ou AROMA DE BOCA:
Sensao olfatria percebida ao aspirar o
ar com a cachaa ainda na boca, ou ao
fungar depois de engolir a cachaa, de
modo que aromas desprendidos sejam
levados at a cavidade nasal onde sero
sentidos na rea olfatria.
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Consideraes finais
Mudana de perfil do
consumidor de cachaa
Exigncias sanitrias mais
restritivas devido preocupao
com a sade pblica
Melhoria contnua e controle
de qualidade do processo
de produo da cachaa
Tecnologia de Produo de Cachaa um ramo de estudos
relativamente novo e sofre ainda as resistncias tpicas de todo
processo de mudana, contando ainda com poucos produtores
conforme determina a legislao pertinente.
48
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Consideraes finais
Aspectos Legais
Quando o Estado intervm em certas atividades, exigindo determinados
comportamentos ou absteno de atos, ou impondo-lhes obrigaes, bem
como quando aprova padres de qualidade a serem observados na produo
de bens de consumo, a ningum dado fazer ou deixar de fazer alguma coisa
seno em virtude da lei.
Normas sanitrias so de ordem pblica, tendo por escopo o bem comum e
a proteo dos interesses coletivos e, como tal, prevalecem sobre quaisquer
outras da rbita do direito privado, ou mesmo do direito pblico individual,
quando postas em contato.
Mercado
Necessidade de uma poltica pblica consistente para o setor, que
beneficie o pequeno e mdio produtor, para fornece-lhes o suporte tcnico-
financeiro necessrio ao implemento tecnolgico da produo, ponto
fundamental ao desenvolvimento e manuteno da qualidade da cachaa.
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
Referncias bibliogrficas
ANDRADE, L.A. de B., CARDOSO, M.B., Cultura da cana-de-acar. Lavras, Editora
UFLA/FAEPE, 2004, p. 42. Curso de Ps-Graduao Latu Sensu (Especializao)
distncia Tecnologia da Cachaa. Universidade Federal de Lavras.
ANDRADE SOBRINHO, L.G. de, BOSCOLO, M., LIMA-NETO, B. dos S., FRANCO,
D.W. Carbamato de etila em bebidas alcolicas (cachaa, tiquira, usque e grapa). Qumica
Nova, v.25, n.6b, p.1074 1077, nov./dez. 2002.
BOTELHO, M.S. Aspectos Legais para a produo de cachaa no mbito de
competncia do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Lavras: UFLA/FAEPE,
2004. Tecnologia da Cachaa. Universidade Federal de Lavras.
BRASIL. Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Regulamento da Lei
8.918 aprovado pelo Decreto no 2.314 de 04 de setembro de 1997. Dirio Oficial da Unio,
Braslia, 05 de setembro de 1997.
BRASIL, Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Instruo Normativa no 5
de 31 de maro de 2000. Dirio Oficial da Unio, Braslia, 05 de abril de 2000.
BRASIL, Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento. Instruo Normativa no
13 de 29 de junho de 2005. Dirio Oficial da Unio, Braslia, 30 de junho de 2005.
CARDOSO, M. das G., CORRA, A. D., ABREU, C. M. P., Anlises fsico-qumicas da
cachaa.Lavras: Editora UFLA/FAEPE, 2004, p. 5-11. Curso de Ps-Graduao Latu Sensu
(Especializao) distncia Tecnologia da Cachaa. Universidade Federal de Lavras.
49
Conselho Regional de Qumica IV Regio (SP/MS)
ESPINOZA, L.J.S., BOTELHO, M.S., Boas Prticas de Fabricao para Estabelecimentos
Produtores de Cachaa: Aspectos Higinico-Sanitrios, Lavras: Editora UFLA/FAEPE,
2006, 52p. Tecnologia da Cachaa. Universidade Federal de Lavras.
MAIA, A.B.R.A., CAMPELO, E.A.P., Tecnologia da Cachaa de Alambique, Belo Horizonte,
SEBRAE/MG, SINDBEBIDAS, 2005. 129 p.
MORI, F.A., MENDES, L.M. Envelhecimento da cachaa. Lavras: Editora UFLA/FAEPE,
2005, 30p. Tecnologia da Cachaa. Universidade Federal de Lavras.
MUTTON, M.J.R., MUTTON, M.A. Aguardente de cana: produo e qualidade. Jaboticabal:
Fundao Estadual de Pesquisas Agronmicas, 1992. 171 p.
MUTTON, M.J.R., MUTTON, M.A. Cachaa: orientaes tcnicas para produo. 150 p.,
2005, Treinamento empresarial SEBRAE /Piau.
SCHWAN, R.F., CASTRO, H.A. Fermentao alcolica. In: Maria das Graas Cardoso
(Ed.) Produo de aguardente de cana-de-acar. Lavras: Editora UFLA, 2001. cap.3,
p.113-127.
VEIGA, J.F. Equipamentos para a produo e controle de operao da fbrica de cachaa.
Lavras: Editora UFLA/FAEPE, 2004, 43p. Curso de Ps-Graduao Latu Sensu
(Especializao) distncia Tecnologia da Cachaa. Universidade Federal de Lavras.
Referncias bibliogrficas
Você também pode gostar
- Carbamato de Etila Na CachaçaDocumento8 páginasCarbamato de Etila Na CachaçaTalles FariaAinda não há avaliações
- AULA 06 - Analises Fisico-Quimicas de AguardenteDocumento39 páginasAULA 06 - Analises Fisico-Quimicas de AguardenteSebastião BezerraAinda não há avaliações
- Relatorio AguardentesDocumento9 páginasRelatorio AguardentesFlávia GomesAinda não há avaliações
- Aguardente de Cana-De AçúcarDocumento8 páginasAguardente de Cana-De AçúcaretyseAinda não há avaliações
- Rap 220909 CarlosDocumento34 páginasRap 220909 CarlosÉverton HolandaAinda não há avaliações
- Aula 2 AguardenteDocumento77 páginasAula 2 Aguardenteflaviouft3523Ainda não há avaliações
- Cachaça Qualidade e ProduçãoDocumento25 páginasCachaça Qualidade e ProduçãojoseadelcioAinda não há avaliações
- MTM5MTU Batidas CacauDocumento5 páginasMTM5MTU Batidas CacauAntonio Ariza Neto ArizaAinda não há avaliações
- Análise Fisico Química Da CachaçaDocumento5 páginasAnálise Fisico Química Da CachaçaUaitã PiresAinda não há avaliações
- Apostila Produção Da CachaçaDocumento14 páginasApostila Produção Da CachaçaJoana CordeiroAinda não há avaliações
- Aguardente de MelDocumento3 páginasAguardente de MelUaitã PiresAinda não há avaliações
- Slides - Produção de Cerveja ArtesanalDocumento134 páginasSlides - Produção de Cerveja ArtesanalLau Fil100% (1)
- Álcoois Superiores e MetanolDocumento19 páginasÁlcoois Superiores e Metanolélton100% (2)
- Bebidas Destiladas:: Amanda Rivieira Da Silva Naimy CorreiaDocumento20 páginasBebidas Destiladas:: Amanda Rivieira Da Silva Naimy CorreiaAlessandro G. MattosAinda não há avaliações
- Nota Tecnica - Açucares TotaisDocumento26 páginasNota Tecnica - Açucares TotaisdaianeelisAinda não há avaliações
- Processos FermentativosDocumento41 páginasProcessos FermentativosMaria MoreiraAinda não há avaliações
- Efeito Da Adição de Açúcar e Do Processo de Envelhecimento Na Qualidade Sensorial de Amostras de Cachaça Obtidas Tradicionalmente e Por RedestilaçãoDocumento8 páginasEfeito Da Adição de Açúcar e Do Processo de Envelhecimento Na Qualidade Sensorial de Amostras de Cachaça Obtidas Tradicionalmente e Por RedestilaçãoVitor SantosAinda não há avaliações
- Off FlavorsDocumento40 páginasOff FlavorsHelio Moreno AmaralAinda não há avaliações
- Instrucao Normativa No 13 de 29 de Junho de 2005 PDFDocumento5 páginasInstrucao Normativa No 13 de 29 de Junho de 2005 PDFJaqueline TresoldiAinda não há avaliações
- Curso de Fabricação Caseira de Cerveja - PUCRSDocumento230 páginasCurso de Fabricação Caseira de Cerveja - PUCRSKati Rodrigues100% (9)
- Destilados AlcoólicosDocumento2 páginasDestilados AlcoólicosAkumaaAinda não há avaliações
- Relatorio Cachaça CorretoDocumento26 páginasRelatorio Cachaça CorretoGabriel AmaralAinda não há avaliações
- Cinética e Caracterização Físico-Química Do Fermentado Do Pseudofruto Do CajuDocumento4 páginasCinética e Caracterização Físico-Química Do Fermentado Do Pseudofruto Do CajuOnildo LimaAinda não há avaliações
- Garantia e Controle de Qualidade em BebidasDocumento40 páginasGarantia e Controle de Qualidade em BebidasAlessandro SilvaAinda não há avaliações
- Procbiotecind Bebidasfermento Destiladas2015Documento32 páginasProcbiotecind Bebidasfermento Destiladas2015Kauã PedroAinda não há avaliações
- Fabricação de Licor de Acerola - EMBRAPADocumento2 páginasFabricação de Licor de Acerola - EMBRAPAanon-613503100% (4)
- 14459-Texto Do Trabalho-45002-1-10-20180522Documento20 páginas14459-Texto Do Trabalho-45002-1-10-20180522marcosfromuspAinda não há avaliações
- VodkaDocumento24 páginasVodkaGustavo ZacuraAinda não há avaliações
- Tecnologia de Produção de CervejasDocumento7 páginasTecnologia de Produção de CervejasJaqueline Amaro100% (1)
- AGUARDENTE2Documento56 páginasAGUARDENTE213bispoAinda não há avaliações
- Fermentação Alcoólica e Caracterização de Fermentado de Morango PDFDocumento4 páginasFermentação Alcoólica e Caracterização de Fermentado de Morango PDFVitória AmaralAinda não há avaliações
- CQ 5Documento7 páginasCQ 5António Mário PuitaAinda não há avaliações
- Análise de LicoresDocumento5 páginasAnálise de LicoresJhenmylle Ribeiro0% (1)
- Cassiasoares,+rezende Cachaca PDFDocumento5 páginasCassiasoares,+rezende Cachaca PDFMariele Silva Cruz mscAinda não há avaliações
- Regulamento Técnico - CachaçaDocumento6 páginasRegulamento Técnico - Cachaçaguilherme.patricioAinda não há avaliações
- Análise de Cobre em CachaçaDocumento10 páginasAnálise de Cobre em CachaçaMariAinda não há avaliações
- Manual de Boas Prativcas Na Fabricacao de VinhosDocumento18 páginasManual de Boas Prativcas Na Fabricacao de VinhosJesiel linoAinda não há avaliações
- Avaliacao Sensorial de CachacaDocumento9 páginasAvaliacao Sensorial de CachacaARILSON ROCHA NOGUEIRAAinda não há avaliações
- Relatório Sobre de Fabricação de HidromelDocumento8 páginasRelatório Sobre de Fabricação de HidromelJosceane PereiraAinda não há avaliações
- Processo de Fabricação Do RefrigeranteDocumento11 páginasProcesso de Fabricação Do RefrigeranteLorenaAinda não há avaliações
- Produção de EtanolDocumento52 páginasProdução de EtanolFrancisco OliveiraAinda não há avaliações
- Cachaça de Alambique e Cachaça de ColunaDocumento33 páginasCachaça de Alambique e Cachaça de ColunaJanegr100% (1)
- Introdução Aos Combustíveis - Etanol (Parte 2)Documento39 páginasIntrodução Aos Combustíveis - Etanol (Parte 2)DalilaAinda não há avaliações
- AcidezDocumento11 páginasAcidezDávylla MoanaAinda não há avaliações
- A - Quimica - Da - Cerveja - QNESC20191130 67465 1lf6cyo With Cover Page v2Documento9 páginasA - Quimica - Da - Cerveja - QNESC20191130 67465 1lf6cyo With Cover Page v2NATALIA PEREIRA CAMPIMAinda não há avaliações
- Li CoresDocumento4 páginasLi CoresRobertoCorrêadeAndradeAinda não há avaliações
- Aguardente de Cana Aula 1Documento118 páginasAguardente de Cana Aula 1Luara GoncalvesAinda não há avaliações
- Destilados 20 CorantesDocumento3 páginasDestilados 20 Corantessander luiz brazAinda não há avaliações
- Produção de Aguardente de MelDocumento5 páginasProdução de Aguardente de MelLívia Pinheiro AraujoAinda não há avaliações
- Elisa Maria Dos Santos SilvaDocumento22 páginasElisa Maria Dos Santos Silvafelipe fernandoAinda não há avaliações
- Aula 13 - RefrigeranteDocumento41 páginasAula 13 - RefrigeranteWiliam ColenAinda não há avaliações
- Craft Beer Brand MK Plan by SlidesgoDocumento18 páginasCraft Beer Brand MK Plan by SlidesgoRegilene SaturninoAinda não há avaliações
- 1 Tecnologia de Bebidas - Apostila ResumoDocumento24 páginas1 Tecnologia de Bebidas - Apostila ResumoDaniele SantiagoAinda não há avaliações
- Situação Problema 1Documento1 páginaSituação Problema 1sarakbalabramAinda não há avaliações
- Avaliação Da Acidez Volátil, Teor Alcoólico e de Cobre em Cachaças Artesanais PDFDocumento9 páginasAvaliação Da Acidez Volátil, Teor Alcoólico e de Cobre em Cachaças Artesanais PDFMarcos IbiapabaAinda não há avaliações
- A12-Cerveja PaginaDocumento94 páginasA12-Cerveja PaginaChicoAinda não há avaliações
- Aula CervejaDocumento133 páginasAula CervejaDEYKLA LIMA DA LUZ MONTEIROAinda não há avaliações
- Relatório Sobre Obtenção de EtanolDocumento6 páginasRelatório Sobre Obtenção de EtanolAlinne AdleyAinda não há avaliações