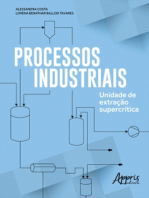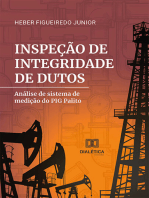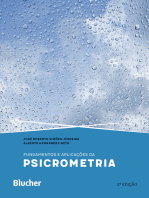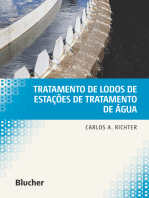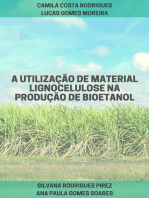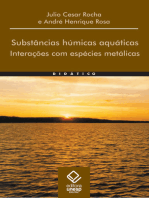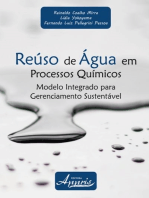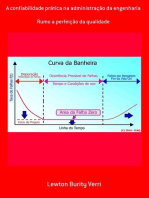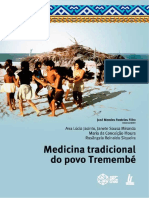Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila Petrobras Higiene Industrial
Apostila Petrobras Higiene Industrial
Enviado por
Marco Aurélio Afonso AbipDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila Petrobras Higiene Industrial
Apostila Petrobras Higiene Industrial
Enviado por
Marco Aurélio Afonso AbipDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Higiene Industrial
1
CURSO DE FORMAO DE OPERADORES DE REFINARIA
HIGIENE INDUSTRIAL
2
Higiene Industrial
Higiene Industrial
3
CURITIBA
2002
HIGIENE INDUSTRIAL
ANDR LUIS DA SILVA KAZMIERSKI
ANTONIO GRAVENA
Equipe Petrobras
Petrobras / Abastecimento
UNs: Repar, Regap, Replan, Refap, RPBC, Recap, SIX, Revap
4
Higiene Industrial
363.11 Kazmierski, Andr Luis da Silva.
K23 Curso de formao de operadores de refinaria: higiene industrial / Andr Luis da Silva
Kazmierski, Antonio Gravena. - Curitiba : PETROBRAS : UnicenP, 2002.
38 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.
Financiado pelas UN: REPAR, REGAP, REPLAN, REFAP, RPBC, RECAP, SIX, REVAP.
1. Higiene industrial. 2. Ergonomia. 3. Rudo. I. Ttulo.
Higiene Industrial
5
Apresentao
com grande prazer que a equipe da Petrobras recebe voc.
Para continuarmos buscando excelncia em resultados, dife-
renciao em servios e competncia tecnolgica, precisamos de
voc e de seu perfil empreendedor.
Este projeto foi realizado pela parceria estabelecida entre o
Centro Universitrio Positivo (UnicenP) e a Petrobras, representada
pela UN-Repar, buscando a construo dos materiais pedaggicos
que auxiliaro os Cursos de Formao de Operadores de Refinaria.
Estes materiais mdulos didticos, slides de apresentao, planos
de aula, gabaritos de atividades procuram integrar os saberes tc-
nico-prticos dos operadores com as teorias; desta forma no po-
dem ser tomados como algo pronto e definitivo, mas sim, como um
processo contnuo e permanente de aprimoramento, caracterizado
pela flexibilidade exigida pelo porte e diversidade das unidades da
Petrobras.
Contamos, portanto, com a sua disposio para buscar outras
fontes, colocar questes aos instrutores e turma, enfim, aprofundar
seu conhecimento, capacitando-se para sua nova profisso na
Petrobras.
Nome:
Cidade:
Estado:
Unidade:
Escreva uma frase para acompanh-lo durante todo o mdulo.
6
Higiene Industrial
Sumrio
1 DIRETRIZES DE HIGIENE INDUSTRIAL........................................................................ 7
1.1 Histrico ........................................................................................................................ 7
1.1.1 Introduo ........................................................................................................... 7
1.1.2 Conceituao ...................................................................................................... 8
1.1.3 Objetivo .............................................................................................................. 8
1.2 Diretrizes ....................................................................................................................... 8
1.2.1 Da Justificao.................................................................................................... 8
1.2.2 Da Funcionalidade .............................................................................................. 8
1.2.3 Da Informao .................................................................................................... 8
1.2.4 Da Participao................................................................................................... 8
1.2.5 Da Interao........................................................................................................ 8
1.3 Conceitos ....................................................................................................................... 8
1.4 Preserve sua Audio .................................................................................................. 17
1.4.1 Uma Excurso no Aparelho Auditivo .............................................................. 18
1.4.2 Ouvido O Palco da Audio .......................................................................... 18
1.4.3 Uma Atuao Inesquecvel ............................................................................... 19
1.4.4 Audiometria Avaliando a Atuao das Clulas Ciliadas ............................... 19
1.5 Rudo A Ameaa Silenciosa... .................................................................................. 19
1.5.1 Rudo Ameaa antes mesmo do Nascimento ................................................ 20
1.5.2 Protegendo-se do Rudo ................................................................................... 21
1.6 A Legislao Trabalhista Brasileira e o Rudo ............................................................ 22
1.7 Tipos de Radiao ....................................................................................................... 22
1.7.1 Infravermelho ................................................................................................... 23
1.7.2 Ultravioleta ....................................................................................................... 23
1.7.3 Radiao de fundo ............................................................................................ 23
1.7.4 Raios catdicos ................................................................................................. 24
1.7.5 Raio X............................................................................................................... 24
1.7.6 Radiao de nutrons ........................................................................................ 24
1.8 PPEOB: Programa de Preveno da Exposio Ocupacional ao Benzeno ................. 28
1.8.1 Objetivos........................................................................................................... 28
1.8.2 Propriedades toxicolgicas ............................................................................... 28
1.8.3 Toxicocintica e toxicodinmica ...................................................................... 29
1.9 NR 17 Ergonomia..................................................................................................... 33
Higiene Industrial
7
1
Diretrizes de Higiene
I ndustrial
1.1 Histrico
A relao entre o ambiente de trabalho e
seu efeito sobre a sade do trabalhador co-
nhecida h muito tempo. Entretanto, na anti-
guidade, pouco foi feito para proteger os tra-
balhadores, pois, normalmente, eram utiliza-
dos escravos nos trabalhos mais perigosos. A
primeira doena profissional registrada foi a
intoxicao por chumbo, no sculo IV a.C, ob-
servada por Hipcrates em mineiros e meta-
lrgicos.
No sculo I, d.C., Pliny, um romano de
renome, registrou em uma enciclopdia de cin-
cia natural, os riscos existentes na manipula-
o de enxofre e zinco. Tambm descreveu
uma mscara de proteo, feita de bexiga, usa-
da pelos trabalhadores nos servios de maior
exposio poeira.
Em 1473, Ellonberg publicou seu primei-
ro livro que tratava das doenas ocupacionais
e leses dos trabalhadores nas minas de ouro.
Abordou os sintomas da intoxicao pelo
chumbo e mercrio e sugeriu medidas de con-
trole.
O primeiro livro considerado como um tra-
tado sobre doenas ocupacionais, "De morbis
artificum diatriba" (As doenas dos trabalha-
dores), foi escrito por RAMAZZINI e publi-
cado em 1700. Neste livro, o autor descreve
os riscos associados maioria das profisses
de sua poca e enfatiza a necessidade do m-
dico conhecer a profisso de seu paciente para
melhor poder diagnosticar sua doena. Ape-
sar da descrio das doenas profissionais t-
picas de seu tempo, as medidas de controle
sugeridas por Ramazzini eram teraputicas e
curativas, em detrimento das medidas preven-
tivas, ou seja, de controle no ambiente de tra-
balho ou de reduo da exposio.
A Revoluo Industrial trouxe novos ris-
cos aos trabalhadores, intensificou aqueles j
existentes e aumentou significativamente o
nmero de trabalhadores na indstria. O con-
seqente aumento no nmero de acidentes e
doenas profissionais, fez surgir as primeiras
leis trabalhistas, que tratavam, inicialmente, da
limitao das jomadas de trabalho e indeniza-
es a serem pagas em caso de acidente.
As leis indenizatrias aplicavam-se ape-
nas a acidentes de trabalho, porm podiam in-
cluir doenas profissionais no caso destas se-
rem classificadas como acidentes.
No comeo do sculo XX, foi realizada
pela Dra. Alice Hamilton, a primeira pesquisa
que estudou, inicialmente, o ambiente de tra-
balho, com posterior exames mdicos nos tra-
balhadores, concluindo evidente correlao
entre as doenas observadas e a exposio a
produtos txicos. Em seu trabalho, sugeriu
medidas eficazes de controle a fim de elimi-
nar as condies insalubres.
Com a realizao de estudos como o men-
cionado anteriormente, as doenas profissio-
nais comearam a ser reconhecidas como tais
e passaram a ser cobertas pelo seguro de aci-
dente de trabalho. Nos Estados Unidos foram
criados departamentos estaduais e federais res-
ponsveis por inspecionar as condies dos
ambientes de trabalho. Na primeira metade
desse sculo, a importncia da manuteno da
sade dos trabalhadores industriais foi sendo
cada vez mais reconhecida, o que impulsio-
nou o desenvolvimento de uma cincia desig-
nada Higiene Industrial.
1.1.1 Introduo
A Higiene Industrial ser exercida nas
companhias, em consonncia com a poltica
de Segurana Industrial e com as diretrizes da
Diretoria Executiva para as atividades de Se-
gurana Industrial, Proteo Ambiental e Sa-
de Ocupacional, sob a coordenao da Supe-
rintendncia de Engenharia de Segurana e do
Meio Ambiente (Susema).
Em nvel departamental, esta coordenao
compete ao Asema (Assistente de Engenharia
de Segurana e do Meio Ambiente).
8
Higiene Industrial
A cada rgo da companhia cabe assumir
a responsabilidade de executar programas es-
pecficos que atendam s suas caractersticas
e necessidades particulares, sob a liderana
ativa e continuada do seu gerente de maior n-
vel hierrquico.
1.1.2 Conceituao
A Higiene Industrial o conjunto de aes
voltadas para o reconhecimento, a avaliao e
o controle dos fatores ambientais e tenses
originados do, ou, no local de trabalho que
possam causar doena, comprometimento da
sade e do bem-estar ou significativo descon-
forto e ineficincia entre os trabalhadores ou
membros de uma comunidade de trabalhado-
res. Entende-se por trabalhadores os empre-
gados, contratados, bolsistas e estagirios.
1.1.3 Objetivo
Assegurar aos trabalhadores padres ade-
quados de sade e bem-estar no ambiente de
trabalho.
1.2 Diretrizes
1.2.1 Da Justificao
Na seleo de projetos de instalaes, de
processos ou equipamentos que utilizem ou
produzam agentes agressivos, atendidos os
parmetros de economicidade, deve-se optar
por aquele que gere o menor nvel de exposi-
o dos trabalhadores, obedecendo, no mni-
mo, s condies e aos limites estabelecidos
na Legislao Brasileira.
1.2.2 Da Funcionalidade
As instalaes, processos e procedimen-
tos existentes devem ser objeto de aes espe-
cficas com o objetivo de reconhecimento e
avaliao de agentes agressivos existentes e
estabelecimento de medidas de controle.
1.2.3 Da Informao
Todo trabalhador deve ser informado quan-
to aos riscos aos quais est exposto no desem-
penho de suas atribuies, receber instrues
quanto aos meios de preveno e controle, e
em relao aos danos que podem ser produzi-
dos sua sade.
1.2.4 Da Participao
Os programas de Higiene Industrial devem
ser transparentes quanto aos mtodos, resulta-
dos e medidas corretivas. Devem criar condies
para a participao e desenvolvimento dos tra-
balhadores, na aplicao e aprimoramento dos
princpios e aes da atividade.
1.2.5 Da Interao
A Higiene Industrial exige ao multidis-
ciplinar, complementa-se e interage com as de
Segurana Industrial, Sade Ocupacional e
Meio Ambiente, e, para tanto, necessria a
cooperao e o envolvimento dos respons-
veis por estas atividades, para que seus objeti-
vos sejam alcanados.
SUSEMA Dez/90
1.3 Conceitos
cido: so substncias, constitudas de
hidrognio e um ou mais elementos, que, em
presena de alguns solventes como a gua, rea-
ge, com a produo de ons hidrognio (H+).
Agentes Oxidantes: so agentes qumi-
cos que desprendem oxignio e favorecem a
combusto em refinarias.
Barreiras Qumicas: so dispositivos ou
sistemas que protegem o trabalhador do con-
tato com substncias qumicas irritantes, no-
civas, txicas, corrosivas, lquidos inflamveis,
substncias produtoras de fogo, agentes oxi-
dantes e substncias explosivas.
Bases: so substncias capazes de liberar
ons hidroxila (OH), quando em reao com
meios aquosos.
Equipamentos de Proteo Individual
EPI: so equipamentos, de uso estritamente
pessoal, tais como, botas, luvas, protetores
faciais, etc., utilizados para prevenir e/ou mi-
nimizar acidentes. Seu uso regulamentado
pela Portaria 3214-NR-6 do Ministrio do Tra-
balho de 08/06/78, que prev a distribuio
gratuita desses equipamentos, competindo ao
trabalhador us-los e conserv-los.
Equipamentos de Proteo Coletiva
EPC: so equipamentos de uso coletivo, ex-
tintores de incndio, lava-olhos, etc., utiliza-
dos para prevenir e/ou minimizar acidentes.
Lquidos Inflamveis: so agentes qu-
micos que, em temperatura igual ou inferior a
93
o
C, desprendem vapores inflamveis.
Ponto de Auto-Ignio: a temperatura
mnima em que ocorre uma combusto, inde-
pendente de uma fonte de calor.
Ponto de Combusto: a menor tempe-
ratura em que vapores de um lquido, aps in-
flamarem-se pela passagem de uma chama pi-
loto, continuam a arder por 5 segundos, no
mnimo.
Higiene Industrial
9
Ponto de Fulgor: a menor temperatura
em que um lquido libera suficiente quantida-
de de vapor para formar uma mistura com o ar
passvel de inflamao, pela passagem de uma
chama piloto. A chama dura no mximo 1 se-
gundo.
Substncias Corrosivas: so agentes qu-
micos que causam destruio de tecidos vivos
e/ou materiais inertes.
Substncias Explosivas: so agentes qu-
micos que pela ao de choque, percusso, fric-
o, produzem centelhas ou calor suficiente
para iniciar um processo destrutivo atravs de
violenta liberao de energia.
Substncias Irritantes: so agentes qu-
micos que podem produzir ao irritante so-
bre a pele, olhos e trato respiratrio.
Substncias Nocivas: so agentes qumi-
cos que, por inalao, absoro ou ingesto,
produzem efeitos de menor gravidade.
Substncias Txicas: so agentes qumi-
cos que, ao serem introduzidos no organismo
por inalao, absoro ou ingesto, podem
causar efeitos graves e/ou mortais.
Substncias Produtoras de Fogo: so
agentes qumicos slidos, no explosivos, fa-
cilmente combustveis, que causam ou contri-
buem para a produo de incndios.
Substncia Qumica: todo o agente que
contm uma atividade potencial intrnseca,
capaz de interferir em um sistema biolgico
levando a um dano, leso ou injria, quando
absorvido pelas diversas vias de penetrao.
Poeiras: so partculas slidas, com di-
metro maior que 0,5 micras, que podem apre-
sentar-se em suspenso no ar, geradas de ma-
teriais orgnicos ou inorgnicos, como rochas,
minrios, metais, carvo, madeira, produzidos
por desintegrao, triturao, pulverizao e
impacto. No se difundem no ar, sedimentam-
se sob a influncia da gravidade.
Fumos: so partculas slidas (de dime-
tro menor que 0,5 micras) geradas pela con-
densao de compostos metlicos, geralmen-
te aps volatilizao de metais fundidos.
Exemplo: xidos metlicos (ZnO, CuO, FeO).
Fumaas: partculas de carvo e fuligem.
Nvoa: gotculas (de dimetro maior que
0,5 micras) resultantes da disperso de lqui-
dos, por ao mecnica.
Neblina: so partculas lquidas em sus-
penso no ar, formadas pela passagem rpida
do ar nos lquidos ou pela condensao de
umidade atmosfrica formando molculas de
gases ou vapores. As neblinas difundem-se em
maior extenso que os fumos. As partculas
que constituem uma neblina apresentam di-
metro inferior a 0,5 micras.
Vapores: so formas gasosas das substn-
cias que esto normalmente no estado slido ou
lquido, em possvel equilbrio com sua fase l-
quida, e que podem voltar para seu estado natu-
ral por aumento ou diminuio da temperatura.
Aerossol: partcula slida ou lquida dis-
persa por um longo perodo de tempo no ar.
Toxicidade: a capacidade latente, ine-
rente, que uma substncia qumica possui. a
medida do potencial txico de uma substn-
cia. No existem substncias qumicas atxicas
(sem toxicidade). No existem substncias
qumicas seguras, que no tenham efeitos le-
sivos ao organismo. Por outro lado, tambm
verdade que no existe substncia qumica que
no possa ser utilizada com segurana, pela
limitao da dose e da exposio ao organis-
mo humano.
Os maiores fatores que influenciam na
toxicidade de uma substncia so: freqncia
da exposio, durao da exposio e via de
administrao. Existe uma relao direta en-
tre a freqncia e a durao da exposio na
toxicidade dos agentes txicos. Uma substn-
cia administrada por via oral, numa dosagem
de 100 mg, pode resultar em sintomas leves,
ao passo que 10 mg da mesma substncia por
via intravenosa podem levar a sintomas graves.
Para se avaliar a toxicidade de uma subs-
tncia qumica, necessrio conhecer: que tipo
de efeito ela produz, a dose para produzir o
efeito, informaes sobre as caractersticas ou
propriedades da substncia, informaes so-
bre a exposio e o indivduo.
A toxicidade de uma substncia pode ser
classificada de acordo com os seguintes critrios:
1. Segundo o tempo de resposta
a) aguda: aquela em que os efeitos t-
xicos em animais so produzidos por
uma nica ou por mltiplas exposies
a uma substncia, por qualquer via, por
um curto perodo, inferior a um dia.
Geralmente, as manifestaes ocorrem
rapidamente.
b) subcrnica: aquela em que os efei-
tos txicos em animais, produzidos por
exposies dirias repetidas a uma
substncia, por qualquer via, aparecem
em um perodo de aproximadamente
10% do tempo de vida de exposio do
animal ou em alguns meses.
10
Higiene Industrial
c) crnica: aquela em que os efeitos
txicos ocorrem depois de repetidas ex-
posies, por um perodo longo de tem-
po, geralmente durante toda a vida do
animal ou aproximadamente 80% do
tempo de vida.
2. Segundo a severidade
a) leve: aquela em que os distrbios pro-
duzidos no corpo humano so rapida-
mente reversveis e desaparecem com
o trmino da exposio ou sem inter-
veno mdica.
b) moderada: aquela em que os distr-
bios produzidos no organismo so re-
versveis e no so suficientes para pro-
vocar danos fsicos srios ou prejuzos
sade.
c) severa: aquela em que ocorrem mu-
danas irreversveis no organismo hu-
mano, suficientemente severas para
produzirem leses graves ou a morte.
Segundo a graduao de toxicidade pro-
posta por Irving Sax e adotada pela Agncia
Americana de Proteo Ambiental (EPA), os
nveis de toxicidade leve, moderada e severa
so subdividos ainda em toxicidade:
d) local aguda: efeitos sobre a pele, as
membranas mucosas e os olhos aps ex-
posio que varia de segundos a horas.
e) sistmica aguda: efeitos nos diversos
sistemas orgnicos aps absoro da
substncia pelas diversas vias. A expo-
sio varia de segundos a horas.
f) local crnica: efeitos sobre a pele e os
olhos aps repetidas exposies duran-
te meses e anos.
g) sistmica crnica: efeitos nos sistemas
orgnicos aps repetidas exposies
pelas diversas vias de penetrao du-
rante um longo perodo de tempo.
Outras classificaes de toxicidade:
desconhecida: aquela em que os da-
dos toxicolgicos disponveis sobre a
substncia so insuficientes.
imediata: aquela que ocorre rapida-
mente aps uma nica exposio.
retardada: aquela que ocorre rapida-
mente aps um longo perodo de
latncia. Por exemplo, as substncias
cancergenas.
Dose letal (Dl 50) e concentrao letal (CL 50)
A informao da toxicidade de uma subs-
tncia obtida pelos dados de letalidade.
A Dose Letal (DL 50) a dose de uma
substncia qumica que provoca a morte de
50% de um grupo de animais da mesma esp-
cie, quando administrada pela mesma via.
A Concentrao Letal (CL 50) a con-
centrao atmosfrica de uma substncia qu-
mica que provoca a morte de 50% de um gru-
po de animais expostos, em um tempo definido.
Dose-resposta: relao entre o grau de res-
posta do sistema biolgico e a quantidade de
txico administrada; muito usada em
toxicologia experimental.
Reao alrgica: uma reao adversa a
uma substncia qumica resultante de uma sen-
sibilizao prvia do organismo a esta estru-
tura ou a uma outra similar. Para provocar uma
reao alrgica, uma substncia qumica ou um
produto de seu metabolismo combina-se com
uma protena endgena (do prprio organis-
mo) e forma um antgeno (alrgeno). Este
antgeno induz a formao de anticorpos
(imunoglobulinas), num perodo de uma a duas
semanas. Uma exposio subseqente subs-
tncia resulta em interao antgeno-anticorpo
que provoca a reao alrgica, com liberao
de histamina. A reao alrgica pode ser ime-
diata ou retardada. Exemplos: rinite, asma,
dermatite.
Suscetibilidade ou sensibilidade: carac-
terstica especfica e inerente de um indivduo
em apresentar uma reatividade ou resposta na
presena de um determinado agente ou
antgeno.
Hipersensiblidade ou hipersuscetibili-
dade: aumento da reatividade individual a
agentes exgenos. Alguns organismos desen-
volvem reaes alrgicas e leses ao contato
com uma substncia qumica, mesmo na pre-
sena de baixas doses.
Idiossincrasia: uma reao anormal a
uma substncia qumica, determinada geneti-
camente, em forma de uma extrema sensibili-
dade a baixas doses ou uma extrema insensi-
bilidade a altas doses do agente qumico.
Efeito reversvel e irreversvel: a rever-
sibilidade ou irreversibilidade de um efeito t-
xico determinada pela capacidade que um
tecido ou um rgo tem de se regenerar. Por
exemplo: o fgado tem uma grande capacida-
de de regenerao e muitas leses so revers-
veis. O sistema nervoso central constitudo
de clulas diferenciadas que no se dividem e
Higiene Industrial
11
no se regeneram; assim, leses a este sistema
so, geralmente, irreversveis. Efeitos cance-
rgenos de substncias qumicas so tambm
exemplos de efeitos txicos irreversveis.
Mutagenicidade: capacidade de uma
substncia qumica em induzir mudanas ou
mutaes no material gentico das clulas
(cromossomos) que podem ser transmitidas
durante a diviso celular. Se as mutaes ocor-
rem no vulo ou no espermatozide, no mo-
mento da fertilizao, a resultante combina-
o do material gentico pode no ser vivel e
a morte pode ocorrer no estgio inicial de di-
viso celular na gnese do embrio.
A mutao no material gentico pode no
afetar a fase inicial da embriognese, mas re-
sultar em morte do feto no perodo posterior
de desenvolvimento e resulta em aborto. As
mutaes podem gerar anomalias congnitas.
Acredita-se que o evento inicial de carcinog-
nese das substncias, seja uma mudana no
material gentico.
Carcinogenicidade: capacidade especfi-
ca que uma substncia qumica tem de produ-
zir cncer ou tumores em animais de laborat-
rio e no homem.
A induo de cncer pelas substncias
qumicas ocorre atravs de uma srie comple-
xa de reaes individuais. Existem duas se-
qncias. Numa primeira fase, a clula nor-
mal transforma-se numa clula neoplsica,
atravs da ativao do metablito qumico
carcinognico, por meio de uma combinao
do DNA com o carcinognico final. Numa
segunda fase, a partir da clula neoplsica,
ocorre o crescimento, e assim surge o cncer.
Exemplos de substncias reconhecida-
mente carcinognicas para o homem:
Aflatoxinas, asbestos, benzeno, benzidina,
cloreto de vinila, entre outras.
Exemplos de substncias provavelmente
carcinognicas:
Acrilonitrila, formaldedo, slica cristalina,
brometo de vinila, entre outros.
Teratogenicidade: capacidade que uma
substncia tem de desenvolver uma mal for-
mao no embrio (feto) em desenvolvimen-
to. A influncia das substncias qumicas de-
pende da fase da reproduo durante a qual a
exposio substncia ocorre. As mal forma-
es ocorrem no primeiro trimestre da gestao.
O feto suscetvel entre o 20
o
e o 40
o
dia de
gestao. No quadro abaixo esto apresenta-
dos rgos e a fase da gestao onde podem
ocorrer as anomalias.
Exemplos de substncias com potencial
teratognico:
mercrio, chumbo, cdmio, solventes, inse-
ticidas (pesticidas), agrotxicos, monxido
de carbono, lcool, fumo, talidomida.
Fonte: Encyclopaedia of Occupational Safety and Health.
rgo Fase da gestao (dias)
Crebro 15 25
Olho 24 40
Corao 24 40
Membros Superiores 24 36
Membros Inferiores 24 36
Interao qumica: o uso crescente de
substncias qumicas nas diversas atividades
pelo homem aumenta a possibilidade da inte-
rao de efeitos dos agentes txicos. Segundo
Casarett, a interao qumica pode ser classi-
ficada nos seguintes tipos:
a) sinergismo: quando o efeito combina-
do de dois agentes qumicos maior
do que a soma de cada agente dado iso-
ladamente. Por exemplo: o tetracloreto
de carbono e o etanol (lcool etlico)
so hepatotxicos (txicos ao fgado),
porm, quando combinados, provocam
leso heptica muito maior do que se
forem somadas as leses individuais de
cada substncia.
b) potencializao: quando uma substn-
cia que no tem efeito txico sobre um
rgo ou um sistema adicionada a
uma substncia que tenha efeito txico
sobre esse rgo, e ento surge um efei-
to muito maior.
c) adio: quando o efeito combinado de
duas substncias qumicas igual
soma dos efeitos de cada agente isola-
damente.
d) antagonismo: quando duas substncias
so administradas juntas, uma interfe-
rindo na ao da outra, e vice-versa.
Este efeito, desejado em toxicologia,
a base para a formao de antdotos.
Risco: a probabilidade do efeito txico
inerente de uma substncia qumica aparecer
em um sistema biolgico exposto. Os elemen-
tos para avaliao do risco so: propriedades
fsico-qumicas da substncia, vias de exposio,
12
Higiene Industrial
propriedades metablicas, efeitos toxicolgi-
cos, resultados de exposies imediatas e pro-
longadas em animais e resultados de estudos
no homem.
Exposio: o contato do organismo com
uma determinada substncia txica. Esto re-
lacionadas exposio: as diversas vias de pe-
netrao das substncias, a freqncia, a du-
rao e a dose.
Introduo
No sculo XIII, j se sabia que qualquer
substncia txica, dependendo da dose. Atual-
mente sabe-se que os antibiticos tanto per-
mitem a defesa contra o ataque bacteriano,
como tambm causam alguns efeitos desagra-
dveis; o inseticida no faz mal somente para
a barata e que o lcool prejudica o fgado.
No entanto, muitas vezes utilizam-se subs-
tncias qumicas, como detergente, aguarrs,
querosene, sem que se perceba o risco que elas
representam. Isto acontece freqentemente por
se desconhecer que aquela substncia txi-
ca. As pessoas que trabalham com agentes
qumicos acostumam-se a trabalhar com es-
ses produtos e no sentem mais alguns sinto-
mas, como ardncia e cheiro desagradveis.
Mas isso no significa que elas no estejam
atuando no organismo: o risco de danos para a
sade crescente e os efeitos, muitas vezes,
demoram anos para se manifestar, podendo at
se tornar irreversveis.
Intimidade do Homem e do Produto Agressivo
Este o caso de quem trabalha em conta-
to com produtos qumicos: pega tanta intimi-
dade com os produtos, que acaba achando des-
necessrio se proteger, mesmo durante as ope-
raes em que h risco de contato.
Este contato dirio com produtos qumi-
cos, causa problemas que, ao longo do tempo,
podero influir no bem-estar e na sade. Evi-
tar esse contato com substncias txicas um
direito que depende, em parte, de cada pessoa.
Dando Nome aos Bois...
1. Toda substncia qumica pode fazer
mal depende da quantidade.
A Toxicologia estuda esses efeitos noci-
vos sobre os seres vivos.
2. Algumas substncias so mais nocivas
do que outras e seus efeitos podem ser
diferentes. Isso se chama Toxicidade.
E a substncia causadora de dano cha-
ma-se substncia txica ou txico.
3. A substncia txica pode causar mal,
mas isto s acontece quando ela entra
em contato com o corpo. A probabili-
dade dela penetrar no organismo cha-
ma-se risco txico.
O risco depende de tudo o que contribui
para que a substncia entre em contato com o
organismo:
a temperatura (quanto mais alta, maior
o risco);
o estado da substncia (em geral, os ga-
ses representam risco maior do que os
lquidos);
a forma de embalar e transportar a subs-
tncia.
O Risco no depende da toxicidade
Por exemplo, o tolueno que est dentro de
um tambor fechado representa um risco po-
tencial de intoxicao, que s vai ocorrer se
houver vazamento. O risco para o operador
durante uma operao de carregamento ain-
da maior. E se no for utilizado o procedimen-
to correto durante uma limpeza de tanque com
trapos embebidos em tolueno, o confinamento
do ambiente ir contribuir para que o organis-
mo absorva o produto pelos pulmes e pele.
o mesmo tolueno, a mesma toxicidade,
mas so trs graduaes de risco txico dife-
rentes. Portanto, o risco depende, em grande
parte, da forma de lidar com as substncias.
Num navio, o risco qumico mais percebido
pelo pessoal do convs, que lida com grandes
quantidades de produtos qumicos nas operaes
Higiene Industrial
13
de carga e descarga. O pessoal de mquinas
pode estar exposto a quantidades significati-
vas de substncias txicas em suas atividades
dirias.
No local onde a substncia entra em con-
tato, pele, olhos, nariz, pode causar irritao,
ardncia, ressecamento ou outras reaes, so
os chamados efeitos locais. Por exemplo, os
cidos causam queimaduras, dependendo da
concentrao.
Mas algumas reaes acontecem longe do
local de contato, so os efeitos sistmicos.
Exemplo: o dano que o tetracloreto de carbo-
no e o lcool etlico causam ao fgado um
efeito sistmico.
Dicas Importantes
1. A substncia qumica somente ir cau-
sar algum dano se houver contato com
o organismo. Por isso, a proteo to
importante.
2. Substncias hidrossolveis (solveis em
gua) tm uma probabilidade maior de
causar efeitos locais. o caso da soda
custica e dos cidos.
3. Algumas substncias atravessam a pele
ou outras barreiras do organismo che-
gando ao sangue. So substncias lipos-
solveis, ou seja, solveis em gordu-
ras. Todos os solventes derivados do
petrleo so lipossolveis.
4. A mesma substncia pode causar efei-
tos diferentes, dependendo da quanti-
dade.
5. Pode-se trabalhar com uma substncia
muito txica e o risco ser pequeno,
como o caso da substncia no tambor,
que s vai causar intoxicao se hou-
ver vazamento.
6. Pode-se trabalhar com uma substncia
pouco txica e o risco de intoxicao
ser alto. o caso de limpeza de locais
sem ventilao adequada com nafta ou
outros solventes.
7. Ao entrar em contato com o organis-
mo, se a substncia conseguir atraves-
sar a pele ou outras barreiras, ela entra
no caminho da toxicocintica, aborda-
do a seguir.
Toxicocintica
A peregrinao das substncias qumicas
no organismo.
T uma substncia txica que no per-
tence ao organismo. Se ela estiver no ambien-
te, pode entrar em contato com o corpo atra-
vs de:
via respiratria quando T apresen-
ta-se como gs ou vapor;
via digestiva quando T um lqui-
do ou slido ingerido;
pele quando T est em contato com
o corpo, seja pelas mos ou mesmo
pelas roupas molhadas.
Quando T consegue entrar no organis-
mo e chegar at o sangue, diz-se que foi ab-
sorvida. o processo de Absoro.
Aps absoro, T levado pelo sangue
para todos os lugares do organismo. o pro-
cesso de Transporte e Distribuio.
Quando T encontra um local pelo qual
tem afinidade, fica armazenada. o caso do
solvente que fica armazenado na gordura. Este
processo chama-se armazenamento.
No fgado, T transformado. o pro-
cesso de biotransformao.
14
Higiene Industrial
E, finalmente, os rins eliminam T do
organismo. o processo de eliminao.
Dicas Importantes
1. As substncias podem ser absorvidas,
principalmente, por via respiratria,
digestiva e atravs da pele.
2. As substncias, depois de absorvidas,
so distribudas pelo sangue.
3. O fgado o principal local de trans-
formao das substncias.
4. Algumas substncias ficam armazena-
das em alguns locais do organismo.
5. As substncias podem ser eliminadas
pelo ar exalado, pela urina e todas as
outras secrees do organismo lgri-
mas, suor, saliva, etc.
6. Durante esta permanncia no organis-
mo, as substncias podem ou no pro-
vocar efeitos txicos, que sero estu-
dados na toxicodinmica.
Toxicodinmica
o estudo das modificaes que T pro-
voca no organismo.
Os efeitos que podem acontecer nas pri-
meiras 24 horas aps o contato, so os chama-
dos efeitos imediatos. o caso da queimadura
pelo fenol, que se manifesta na hora do conta-
to. Outros efeitos ocorrem com mais de 24
horas aps o contato, so os chamados efeitos
tardios. Entre estes esto o cncer e as doen-
as do sistema nervoso. Levam, s vezes, anos
para se manifestarem e por isso mais difcil
descobrir qual o agente causador.
Conhecendo Melhor o Efeito
Irritao muitas substncias qumicas
conhecidas causam irritao, entre elas, os
cidos e as bases. No lugar de contato, estas
substncias provocam reaes que vo desde
a coceira, vermelhido, inchao, at ulcera-
es e sangramento. o caso da amnia, que
causa tosse, espirro, lacrimejamento e sangra-
mento quando inalada.
Asfixia causada por gases chamados
asfixiantes. A asfixia a falta de oxignio na
clula, provocando falncia em suas funes,
podendo levar morte. Os gases asfixiantes
so divididos em simples e qumicos.
Gases Asfixiantes Simples provocam
asfixia ocupando o lugar do oxignio no am-
biente. So portanto mais perigosos em ambien-
tes confinados. As fraes gasosas do petr-
leo, como metano, etano, propano e butano so
asfixiantes simples.
Gases Asfixiantes Qumicos provocam
asfixia independente do local ser confinado ou
no. So gases letais. Os mais comuns so: H
2
S
(gs sulfdrico); HCN (gs ciandrico); CO
(monxido de carbono).
Efeitos sobre o Sistema Nervoso ocor-
rem quando a substncia tem afinidade pelo
sistema nervoso e afetam tanto o crebro quan-
to os nervos situados em outros lugares do
corpo. O sistema nervoso altamente sens-
vel aos solventes industriais porque forma-
do, em grande parte, por gordura. Assim, to-
dos os solventes industriais, sejam ter, tolue-
no, xileno, hexano, fenol e outros, causam uma
sensao de euforia em pequenas doses. Em
doses maiores causam sensao de embria-
guez, diminuio da coordenao motora, so-
nolncia, podendo chegar ao coma e morte.
Pequenas doses dirias podem causar in-
snia, irritabilidade, alteraes de humor, di-
ficuldade de concentrao e mesmo sensao
de dormncia e formigamento. As alteraes
no sistema nervoso so, muitas vezes, as que
primeiro se manifestam. Podem, tambm, pro-
vocar mudanas no comportamento ou uma
tendncia maior a acidentes.
Mutagnese uma modificao na c-
lula, que fica com a forma e/ou funo altera-
das. Podem ocorrer diversos fenmenos, en-
tre eles, a formao de tumores benignos ou
malignos (cncer). Estes podem demorar a
aparecer, ou se manifestar em outras geraes
(filhos, netos, bisnetos, etc.).
Cncer a clula muda sua forma e funo
e passa a se reproduzir de modo descontrolado,
Higiene Industrial
15
originando tumores e invadindo outros teci-
dos. Pode ser causado por substncias qumi-
cas, vrus, raios-x. Por exemplo, cncer de f-
gado causado pelo tetracloreto de carbono,
cncer de pulmo causado pelo fumo. O pero-
do de incubao pode durar dez, vinte, trinta
anos.
Teratognese efeito provocado no feto
quando a mulher grvida expe-se a txicos.
Mulheres dependentes de lcool e que bebem
durante a gravidez podem provocar alteraes
na criana, tais como baixo peso e alteraes
cerebrais. Outro exemplo o das mulheres que
tomaram talidomida durante a gravidez e os
filhos nasceram com defeitos nos braos. Neste
caso, os efeitos vo depender da dose e da po-
ca da gravidez em que a mulher teve contato
com a substncia txica.
Finalmente, existem substncias que pro-
vocam danos em determinados pontos do cor-
po, como ossos, rgos formadores de sangue,
olhos, etc. Freqentemente, as substncias cau-
sam danos ao fgado, porque o rgo onde
elas so transformadas, e aos rins e bexiga,
porque se concentram na urina.
Cncer, mutao e teratognese so efei-
tos probabilsticos, isto , expor-se a uma subs-
tncia carcinognica aumenta a probabilidade
de uma pessoa ter cncer. O mesmo vale para
os outros efeitos.
Como se Proteger?
Se tudo txico, e se as substncias qu-
micas esto em todo o lugar, como se proteger
delas?
As substncias muito txicas podem ser
utilizadas de maneira segura. Isto depende de
alguns fatores:
processo condies favorveis expan-
so das substncias podem aumentar o
risco txico, por isso o enclausuramento
representa maior segurana. Altas tem-
peraturas e presses, por outro lado, sig-
nificam maior risco. Substncias mais
volteis tambm representam mais ris-
co. importante pensar sempre em
substituir substncias mais txicas por
outras menos txicas, como, por exem-
plo, os aromticos por solventes de ca-
deia aberta.
ambiente ventilao, exausto, pre-
sena de anteparos e outras condies
no local, podem diminuir o contato do
homem com as substncias.
organizao do trabalho a forma
como o trabalho organizado pode
implicar em um nmero menor de
pessoas envolvidas em operaes de
maior risco ou maior proximidade da
fonte txica.
procedimentos a maneira de reali-
zar determinadas aes representa maior
ou menor risco, e esta uma das bases
do procedimento seguro.
equipamentos a manuteno dos
equipamentos importante no contro-
le de risco, uma vez que contribui para
a preveno de acidentes que envolvam
vazamentos e outros eventos de risco.
uso de E.P.I o equipamento de pro-
teo individual impede o contato en-
tre o agente txico e o organismo hu-
mano e assim reduz o risco txico.
16
Higiene Industrial
armazenamento as condies de ar-
mazenagem devem obedecer s instru-
es contidas nas fichas de informao
das substncias para evitar o risco de
intoxicao. O mesmo vale para o
transporte.
No entanto, muitas vezes existe certa
quantidade de substncias no ambiente. Se os
efeitos dependem da quantidade, como saber
se a quantidade no ar pode causar efeitos no-
civos ou no?
Fazendo testes com animais de laborat-
rio, observando trabalhadores e levantando
dados estatsticos, pode-se considerar que exis-
te uma quantidade da substncia no organis-
mo que no provoca efeitos nocivos observ-
veis. Assim, foram estabelecidos limites con-
siderados seguros para a maioria dos trabalha-
dores expostos durante a jornada de trabalho.
So os limites de tolerncia (TLV em ingls).
Nossa legislao, em portaria 3214 de 08/
06/1978, NR-15 Anexo 11, determina os li-
mites de tolerncia para vrias substncias.
Para se saber a quantidade de substncia txi-
ca no ambiente retira-se uma amostra desse ar
e envia-se para o laboratrio. O resultado
comparado ao Limite de Tolerncia e assim
tem-se uma noo do risco. Assim como se
pode medir as substncias no ar, pode-se tam-
bm medir no ser humano, no ar dos pulmes,
na urina e no sangue, e saber quanto foi absor-
vido. Existem, tambm, limites de tolerncia
biolgica, determinados a partir de estudos que
servem para comparao com os valores en-
contrados no ser vivo.
Outras Perguntas Importantes
Ter curiosidade a respeito de substncias
com as quais se tem contato, seja no trabalho
ou em casa, muito importante para a sade.
1. O que esta substncia pode causar sade?
A resposta est nos manuais, fichas, livros
e revistas.
2. Por onde esta substncia pode entrar no
organismo?
Isto depende do estado em que a substn-
cia se encontra. No estado gasoso, entrar por
meio da respirao; se for lquida, pode pene-
trar a pele, mas lembre-se que lquido tambm
evapora e o vapor pode ser inalado. Assim,
fica mais fcil saber como e onde proteger.
3. Esta substncia capaz de atravessar os
pulmes e chegar at o sangue?
Depende da solubilidade. Quanto mais
lipossolvel, maior a probabilidade de intoxi-
cao. Os derivados do petrleo so, em ge-
ral, muito lipossolveis. A ficha de informa-
o do produto esclarece esta pergunta. Esta
ficha deve ser exigida sempre do fornecedor
ou fabricante para todas as substncias.
Lembrete: para que a substncia faa mal
sade, preciso que haja contato com o or-
ganismo. Sem contato no h efeito.
4. No local de trabalho, h possibilidade de
se ter contato com alguma substncia?
Qual? Quando? Quanto?
5. A forma como se est trabalhando a me-
lhor para evitar que a substncia atinja o orga-
nismo ou h outras formas mais seguras?
As equipes de Higiene Industrial, Segu-
rana e Sade Ocupacional podem ajudar a en-
contrar as repostas para estas duas perguntas.
6. O que fazer se esta substncia entrar em
contato com a pele, olhos, for engolida ou ina-
lada?
Consulte os manuais de primeiros socor-
ros e as fichas de informao, que devem ser
sempre exigidas dos fornecedores e fabricantes.
Higiene Industrial
17
7. Como contribuir para o controle do risco
no meu local de trabalho?
Aprender sobre toxicologia ter conscin-
cia da prpria responsabilidade diante das
agresses aos seres vivos e ao ambiente. Res-
peitar os prprios limites fundamental: o
homem vem sendo exposto a um nmero cada
vez maior de substncias qumicas, em parte
devido ao prprio desenvolvimento tecnol-
gico e os resultados podem ser imprevisveis.
importante divulgar e usar corretamente o
equipamento de proteo e utilizar os proce-
dimentos corretos.
preciso ser cuidadoso e contribuir da
melhor forma para prevenir a exposio s
substncias qumicas, mesmo aquelas aparen-
temente menos nocivas pois no se sabe o que
os novos estudos podem concluir. Pode-se uti-
lizar as descobertas da cincia na melhoria da
qualidade de vida no planeta: ar respirvel que
no cause doenas; mares no apenas naveg-
veis, mas que permaneam sendo a casa de
outros seres; terra frtil que d o alimento no
apenas para combater a fome, mas que garan-
ta a sade para todos!
Adaptao do Manual Nocaute do risco Txico, da ASSAO.
1.4 Preserve sua Audio
A perda auditiva induzida pelo rudo tor-
na-se irreversvel com o passar do tempo e as
medidas preventivas devem ser adotadas por
todos os empregados que esto expostos ao
rudo.
Espera-se que este manual possa colabo-
rar para aumentar a participao nos Progra-
mas de Higiene Industrial e de Sade Ocupa-
cional, atravs de adoo de uma atitude
prevencionista, na melhoria das condies de
trabalho, tendo como resultado a preservao
de sua audio.
Oua tudo, oua sempre, oua bem...
No Princpio Predominava o Silncio...
Naquela poca, as principais fontes de ru-
do eram as foras da natureza, as chuvas, os
ventos, os troves, as erupes de vulces, etc.
Hoje, o rudo atinge nveis muitas vezes
insuportveis, gerado pela tecnologia criada
pelo prprio homem e seu estilo de vida.
Apesar da grande e rpida evoluo no
conhecimento tcnico, a adaptao do nosso
organismo s novas condies muito lenta e
no acompanha o ritmo do avano tecnolgi-
co. Embora, as fontes de rudo tenham se mo-
dificado com o passar dos anos, a reao or-
gnica do homem moderno ao ouvir o barulho
de uma buzina ou de uma motocicleta, se-
melhante quela do homem das cavernas, ao
ouvir um trovo ou o rugido de um leo.
O rudo torna as pessoas alertas, tensas,
em atitude de prontido, e isso explica muito
dos seus efeitos negativos sobre a sade e a
qualidade de vida.
Quando se fala em som ou rudo, trata-se
do mesmo fenmeno fsico caracterizado por
uma vibrao mecnica que se propaga atra-
vs de um meio (gs, lquido ou slido) em
um movimento ondulatrio, como aquele pro-
duzido quando se atira uma pedra em um lago
tranqilo.
Que tal conhecermos
melhor o rudo...?
Quando duas pessoas esto conversando,
aquela que fala provoca uma vibrao de suas
cordas vocais transmitida ao ar existente den-
tro da boca, produzindo variaes da presso
atmosfrica, que se propaga at atingir o ouvi-
do da outra.
18
Higiene Industrial
Dependendo da intensidade e da freqn-
cia das variaes de presso, estas podero ser
interpretadas como som. O som, com predo-
minncia de ondas de altas freqncias, per-
cebido como um som agudo (canto de passa-
rinho, sons do violino), enquanto que o de bai-
xa freqncia percebido como grave (rudo
de compressores, sapo).
A classificao da onda sonora em som
ou rudo, depende da sensao que ela provo-
ca em quem a ouve. Em geral, chama-se de
rudo o som que nos desagradvel, indesejado
ou que nos incomoda. Assim, alguns sons,
como por exemplo, um show de rock, podem
ser agradveis para alguns e extremamente
incmodos para outros. Independente da agra-
dabilidade ou no do som, ele pode ser capaz
de provocar danos sade das pessoas, depen-
dendo do tempo de exposio e do volume.
Aquilo que se conhece como volume do
som, refere-se ao nvel de presso sonora
(NPS) ou nvel de rudo e medido na escala
decibel (dB). Quanto maior o volume, ou seja,
quanto maior o nvel de presso sonora, maior
o risco de dano auditivo, para o mesmo tempo
de exposio.
O ouvido humano no igualmente sen-
svel a todas as freqncias, mais sensvel
para o rudo de freqncia na faixa de 2 kHz a
5 kHz. Para compensar esta diferena na sen-
sibilidade humana, as medies do nvel de
rudo so feitas com um equipamento, conhe-
cido como decibelmetro, que tem um circui-
to de compensao eletrnico que tenta simu-
lar a resposta do ouvido e os resultados so
lidos em dB (A).
Voc sabia que:
10 dB 10 vezes mais que 1 dB
20 dB 100 vezes mais que 1 dB
30 dB 1000 vezes mais que 1 dB?
Um som de 83 dB produz um nvel de
presso sonora 2 vezes maior que um de 80
dB. Portanto, embora uma diferena de 3 dB
possa parecer pequena, representa um aumen-
to significativo no nvel de presso sonora.
1.4.1 Uma Excurso no Aparelho Auditivo
O ouvido composto por trs partes:
1. ouvido externo formado pelo pavi-
lho auricular e pelo conduto auditivo,
por onde algumas vezes, erradamente,
so introduzidos grampos, canetas e
outros apetrechos. Tem como funo
conduzir o som (que uma vibrao
mecnica), at a membrana timpnica,
uma pequena e frgil membrana vibra-
tria.
2. ouvido mdio contm um conjunto
de trs ossinhos (martelo, bigorna e
estribo), que esto ligados um ao outro
e so os responsveis pela transforma-
o da onda sonora em estmulo mec-
nico. Esto alojados em uma cavidade
ligada via respiratria atravs de um
pequeno conduto, a trompa de Eust-
quio, responsvel pelo equilbrio da
presso no interior do ouvido.
3. ouvido interno onde existem duas es-
truturas principais, o labirinto, cujos
canais semicirculares, dispostos nos
planos vertical, horizontal e posterior,
so responsveis pela percepo da
posio no espao e pelo equilbrio do
nosso corpo. E o caracol ou cclea,
onde a informao recebida atravs da
janela oval transformada em um si-
nal eltrico, transmitido atravs do ner-
vo auditivo at o crebro.
1.4.2 Ouvido O Palco da Audio
O movimento vibratrio das molculas
(som) propaga-se pelo ar at o ouvido. Pene-
tra pelo conduto auditivo e vai at a membra-
na timpnica que comea a vibrar, como se
fosse um couro de tamborim, transmitindo seus
movimentos para os trs pequeninos ossos, o
martelo, a bigorna e o estribo.
Tmpano
Conduto
auditivo
externo
Martelo
Canais
semicirculares
Bigorna
Pavilho
Trompa de
Eustquio
Caracol
Estribo
Nervo acstico
Higiene Industrial
19
O estribo, por sua vez, movimentando-se
como se fosse uma vara de cuca, como um
pisto, comprime a janela oval e, por conse-
guinte, o lquido que est no interior do ouvi-
do interno, a linfa. Formam-se ondas na linfa
(semelhantes quelas ondas da pedra no lago),
que provocam movimentos nos clios das c-
lulas de Corti, dentro do caracol. As clulas
de Corti so capazes de transformar esse ca-
fun nos cabelos em estmulo nervoso. O
nervo auditivo capta esta informao e a trans-
porta, ao crebro que entende e faz a tradu-
o: msica, barulho de trem, voz humana, etc.
1.4.3 Uma Atuao Inesquecvel
As grandes estrelas da audio, capazes
de transformar um cafun em mensagem el-
trica, a ser interpretada pelo crebro, so as
clulas ciliadas de Corti. E quem melhor para
represent-las do que uma sereia, to conheci-
da de todos pelos longos cabelos e que depen-
de da gua para sobreviver?
Vamos nos deixar seduzir pela sua hist-
ria, como os marujos de antigamente se dei-
xavam envolver pelo seu canto.
Essa diminuio das clulas ciliadas pro-
voca uma reduo progressiva e irreversvel
da capacidade auditiva. Este processo natural
de diminuio da audio pelo envelhecimen-
to denomina-se Presbiacusia.
Na infncia, e at a adolescncia so mui-
tas as clulas ciliadas, que porm comeam a
diminuir na fase adulta, e vo ficando cada vez
mais rarefeitas medida que se envelhece.
Ouvir muito importante. Atravs da au-
dio, as pessoas podem se relacionar entre si
e com o ambiente que as cerca. Tambm pela
audio que, algumas vezes, perigos eminen-
tes, como a freada de um carro ou o barulho
de uma sirene, so alertados!
1.4.4 Audiometria Avaliando a Atuao das
Clulas Ciliadas
A audiometria uma avaliao da capaci-
dade auditiva das pessoas e seu resultado
registrado num grfico chamado audiograma.
Pelo audiograma, pode-se saber como est a
audio, inclusive o funcionamento das clu-
las ciliadas.
O exame consiste na emisso, por um apa-
relho chamado audimetro, de diferentes sons
de freqncia e intensidade padronizadas.
A pessoa que est sendo avaliada deve
informar o momento exato em que o som
percebido, e o resultado registrado em um
grfico, o audiograma.
So vrias as tcnicas empregadas para se
fazer um bom audiograma, usando-se inclusi-
ve mtodos que corrigem as alteraes da per-
cepo individual dos sons.
Antes de realizar a audiometria, a pessoa
deve evitar exposio a rudos intensos, du-
rante, pelo menos, 14 horas. Esta orientao
deve-se ao fato de a clula ciliada entrar em
fadiga temporria quando submetida a ru-
dos intensos, o que mascara o resultado do
exame.
Este cansao temporrio chama-se
Desvio Temporrio do Limiar de audio
(DTL), que se manifesta por uma diminuio
temporria da audio nas altas freqncias
(sons agudos) e sensao de zumbidos.
1.5 Rudo A Ameaa Silenciosa...
Algumas substncias qumicas, dentre elas
alguns medicamentos, podem causar danos s
preciosas clulas ciliadas, mas a pior e mais
comum ameaa no ambiente de trabalho o
excesso de rudo.
20
Higiene Industrial
Veja como se sente a sereia quando submetida a rudos de diferentes intensidades:
Contudo, o efeito vai depender, no so-
mente da intensidade, mas tambm de outros
fatores, principalmente da freqncia do som
e do tempo de exposio ao rudo.
Alm de danificar a clula ciliada do ou-
vido, o rudo pode provocar outros efeitos no
organismo, tais como: cansao, irritabilidade,
insnia, estado de alerta por perodo prolon-
gado, alteraes da presso arterial e sensao
de zumbido.
Rudos muito intensos (acima de 130 dB)
podem causar dor nos ouvidos, e, se for de
impacto, tipo exploso, pode at provocar rup-
tura de tmpano, desarticulao da cadeia de
ossculos e sangramento (reveja o diagrama do
ouvido).
1.5.1 Rudo Ameaa antes mesmo do
Nascimento
No ltimo trimestre da gravidez, o futuro
beb j est formado, inclusive seu aparelho
auditivo. A Natureza protege o feto das agres-
ses do meio ambiente, atravs de um escu-
do protetor formado pela parede do abdmen
e do tero, pela placenta e pelo lquido amni-
tico no qual flutua o feto. Este conjunto pode
atenuar os rudos mais agudos (nas freqncias
maiores que 500 Hz) em 20 a 30 dB.
Portanto, na gravidez, principalmente du-
rante os ltimos meses, o feto mais sensvel
aos rudos graves (aqueles com freqncia
menor que 500 Hz).
Higiene Industrial
21
Estudos realizados em vrios pases con-
sideraram como segura a exposio aos nveis
de 80 dB por 8 horas. Estes nveis foram in-
cludos nas leis trabalhistas como limites de
exposio ao rudo, para mulheres grvidas,
nos ambientes de trabalho.
****Contudo, durante a gravidez, devem
ser evitadas exposies a rudos em nveis su-
periores a 80 dB
Alguns mdicos recomendam que o re-
cm-nascido permanea em ambientes calmos
e silenciosos, mesmo depois de sair da mater-
nidade, porque seu ouvido muito sensvel.
1.5.2 Protegendo-se do Rudo
As pessoas esto expostas a rudos de di-
ferentes intensidades e freqncias praticamen-
te durante todas as atividades. Alguns desses
rudos, apesar de no constiturem risco ao
aparelho auditivo, so fontes de irritao como,
por exemplo, do pingo d'gua que cai do chu-
veiro, e a do barulho do trfego noite quan-
do se quer dormir.
Outros podem causar desconforto ou mes-
mo dor. O importante identificar as fontes
de rudo, e agir no sentido de resolver o pro-
blema.
O Que Fazer?
Se o rudo no local de trabalho, procure
as equipes de Segurana, Sade e Higiene
Industrial, para participar do Programa de ava-
liao e controle.
Atenda s solicitaes destas equipes, pois
significam proteo da sade e segurana.
Se for indicada pela Segurana a utiliza-
o de equipamento de proteo individual
(EPI), colabore na escolha daquele mais ade-
quado para o seu caso e ao qual voc melhor
se adapte. Utilize-o sempre que estiver expos-
to ao rudo, no trabalho e no lazer. No esque-
a de fazer a limpeza e demais cuidados com
o seu protetor auricular.
Comparea ao seu exame mdico peri-
dico e aproveite a oportunidade para tirar d-
vidas. Siga as recomendaes da equipe de
sade.
Procure manter-se o mais longe possvel
das fontes de rudo. Quanto maior a distncia,
menor a possibilidade de provocar dano. O
importante o quanto de rudo est chegando
ao ouvido.
Procure o servio mdico, caso tenha a
sensao de zumbidos, tonteira, reduo da
capacidade auditiva ou outro sintoma ligado
ao ouvido.
O Que no Fazer
Evite a entrada de gua nos seus ouvidos.
A gua, alm de pressionar a cera para o inte-
rior do ouvido, favorece o crescimento de fun-
gos e bactrias que podem causar infeco.
No introduza objetos no ouvido para lim-
peza e nem esfregue cotonete dentro deles. A
secreo tem funo protetora. Vrios aciden-
tes desagradveis tm ocorrido devido a esta
prtica. Pessoas que produzem secreo em
excesso devem consultar o mdico.
22
Higiene Industrial
Caso tenha a sensao de surdez, ouvido
cheio de gua, consulte um mdico. Nunca
coloque no ouvido remdio ou substncias re-
comendadas por amigos, balconista de farm-
cia ou pessoas palpiteiras.
Evite ouvir msica em alto volume para
abafar rudo de outras fontes. O uso de fones
de ouvido em volume excessivamente alto pro-
voca dano audio.
1.6 A Legislao Trabalhista Brasileira
e o Rudo
Para proteger contra a perda auditiva, a
legislao brasileira determina limites de ex-
posio ao rudo nos locais de trabalho (Ane-
xo 1 e 2 da NR-15, Portaria 3.214 de 08/06/78
do ento Ministrio do Trabalho). Para rudo
de impacto, aquele do tiro de canho ou do
bate-estaca, o limite mximo de exposio
de 130 dB ou de 120 dB(C).
Para os demais tipos de rudos, chamados
de contnuos ou intermitentes, o limite de ex-
posio deve obedecer a uma combinao en-
tre o nvel de rudo e o tempo de exposio,
conforme o quadro abaixo:
Nvel de rudo dB (A)
Mxima exposio diria
permissvel
8 horas
7 horas
6 horas
5 horas
4 horas e 30 minutos
4 horas
3 horas e 30 minutos
3 horas
2 horas e 40 minutos
2 horas e 15 minutos
2 horas
1 hora e 45 minutos
1 hora e 15 minutos
1 hora
45 minutos
35 minutos
30 minutos
25 minutos
20 minutos
15 minutos
10 minutos
8 minutos
7 minutos
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
98
100
102
104
105
106
108
110
112
114
115
Limites de tolerncia para rudo contnuo
ou intermitente
Pela tabela, um trabalhador exposto a um
nvel de rudo de 95 dB(A) no poder ficar
no ambiente ruidoso por perodo superior a 2
horas, sem o uso de uma proteo auditiva
adequada. Da mesma forma, no permitida
a exposio a nveis de rudo a 115 dB(A) para
trabalhadores que no estejam utilizando a
proteo adequada.
Na maioria dos
ambientes de traba-
lho, e at mesmo em
casa, o nvel de rudo
no permanece estti-
co ao longo do tem-
po. Neste caso, pre-
ciso calcular o que se
chama de dose de
rudo ou nvel equi-
valente de rudo recebido pela pessoa expos-
ta, o que pode ser feito facilmente atravs de
um equipamento colocado na pessoa a ser ava-
liada, chamado de Dosmetro de Rudo.
Voc sabe qual a sua dose diria de rudo
no trabalho? Solicite esta informao ao pes-
soal da Segurana Industrial.
Quando a questo conforto, a legislao
brasileira estabelece que o nvel de rudo para
o desenvolvimento de atividades intelectuais,
que envolvem concentrao e raciocnio, no
deve ser superior a 65 dB(A).
Adaptao do Manual Viva Ouvindo, da ASSAO.
1.7 Tipos de Radiao
a desintegrao espontnea do ncleo
atmico de alguns elementos (urnio, polnio
e rdio), resultando em emisso de radiao.
Descoberta pelo francs Henri Becquerel
(1852-1909) poucos meses depois da desco-
berta dos raios X. Becquerel verifica que,
alm de luminosidade, as radiaes emitidas
pelo urnio so capazes de penetrar a matria.
Dois anos depois, Pierre Curie e sua mu-
lher, a polonesa Marie Curie, encontram fon-
tes radiativas muito mais fortes que o urnio.
Isolam o rdio e o polnio e verificam que o
rdio era to potente que podia provocar
ferimentos srios e at fatais nas pessoas que
dele se aproximavam.
A
Higiene Industrial
23
Radiao Alfa uma partcula formada
por um tomo de hlio com carga positiva. A
distncia que uma partcula percorre antes de
parar chamada alcance. Num dado meio, par-
tculas alfa de igual energia tm o mesmo al-
cance. O alcance das partculas alfa muito
pequeno, ou seja, so facilmente blindadas.
Uma folha fina de alumnio barra completa-
mente um feixe de partculas de 5 MeV. A ina-
lao ou ingesto de partculas alfa muito
perigosa.
Radiao Beta uma partcula, de carga
negativa, o eltron. Sua constituio feita por
partculas beta que so emitidas pela maioria
dos nucldeos radiativos naturais ou artificiais
e tm maior penetrao que as partculas alfa.
O 32 P d uma radiao beta at 1,7 MeV com
uma penetrao mdia de 2 a 3 mm na pele, e
alcana, em pequena proporo, 8 mm. Se o
emissor beta ingerido, como acontece nos
casos de diagnstico e teraputica, os efeitos
so muito mais extensos.
Radiao Gama uma onda eletromag-
ntica. As substncias radiativas emitem con-
tinuamente calor e tm a capacidade de ionizar
o ar e torn-lo condutor de corrente eltrica.
So penetrantes, e ao atravessarem uma subs-
tncia, chocam-se com suas molculas. A ra-
diao gama tem seu poder de penetrao
muito grande. Sua emisso obtida pela maio-
ria, no totalidade, dos nucldeos radiativos
habitualmente empregados. Quando a fonte de
material radioativo for beta ou gama, neces-
sria a colocao de uma barreira entre o ope-
rador e a fonte.
A
1.7.1 Infravermelho
Radiao eletromagntica invisvel, emi-
tida por corpos aquecidos. Pode ser detectada
por meio de clulas fotoeltricas. Possui mui-
tas aplicaes, desde o aquecimento de interio-
res at o tratamento de doenas de pele e dos
msculos. Para produzir o infravermelho, em
geral empregam-se lmpadas de vapor de mer-
crio a de filamento longo incandescente.
A radiao infravermelha usada para
obter fotos de objetos distantes encobertos pela
atmosfera, tambm muito utilizada por astr-
nomos para observar estrelas e nebulosas que
so invisveis com luz normal. Uma outra uti-
lidade deste tipo de radiao o uso nas foto-
grafias infravermelhas, que so muito preci-
sas. O infravermelho foi muito utilizado na II
Guerra Mundial.
1.7.2 Ultravioleta
Produzida por descargas eltricas em tu-
bos de gs. Cerca de 5% da energia mandada
pelo Sol consiste nesta radiao, mas a maior
parte da que incide sobre a Terra filtrada pelo
O
2
e pelo oznio na atmosfera, que protegem
a vida na Terra. Esta radiao empregada,
principalmente, em tubos fluorescentes, mas
tambm em aplicaes mdicas que incluem
lmpadas germicidas, o tratamento do Raqui-
tismo e doenas de pele, enriquecimento de
leite e ovos com vitamina D.
dividida em trs classes: UV-A, UV-B
e UV-C. As ondas de menor perodo so as
mais nocivas aos organismos vivos. A UV-A
a mais perigosa e tem perodo entre 4000 A
(ngstrons) e 3150 A
. UV-B tem perodo en-
tre 3150 A
e 2800 A
e causa queimaduras na
pele.
1.7.3 Radiao de fundo
Toda vida, em nosso planeta, est exposta
radiao csmica e radiao proveniente
de elementos naturais radiativos existentes na
crosta terrestre como potssio, csio, entre
outros. A intensidade desta radiao tem per-
manecido constante por milhares de anos e
chama-se radiao natural ou radiao de fun-
do, e provm de muitas fontes.
Cerca de 30% a 40% dessa radiao deve-
se aos raios csmicos. Alguns materiais radia-
tivos, como potssio-40, carbono-14, urnio,
trio, etc., esto presentes em quantidades va-
riveis nos alimentos.
24
Higiene Industrial
Uma quantidade razovel de radiao vem
do solo e de materiais de construo. Assim,
pois, a radiao de fundo pode variar de local
para local.
O valor mdio da radiao de fundo em
locais habitados de 1, 25 milisievert (mSv)
ao ano.
1.7.4 Raios catdicos
So feixes de partculas produzidos por um
eletrodo negativo (ctodo) de um tubo conten-
do gs comprimido. So resultado da ionizao
do gs e provocam luminosidade. Os raios
catdicos foram identificados no final do s-
culo passado por Willian Crookes. O tubo de
raios catdicos usado em osciloscpios e te-
levises.
1.7.5 Raio X
So capazes de atravessar o corpo huma-
no, porm durante a travessia, o feixe sofre
um certo enfraquecimento. Provoca a ilumi-
nao de certos sais minerais.
O uso do raio X tem sido uma importante
ferramenta de diagnstico e terapia. Os raios
X so absorvidos pelos ossos, no entanto pas-
sam facilmente por outros tecidos.
Em 1895, Wilhelm Konrad von Rentgen
descobre acidentalmente os raios X, quando
estudava vlvulas de raios catdicos. Verifi-
cou que algo acontecia fora da vlvula e fazia
brilhar no escuro focos fluorescentes. Eram
raios capazes de impressionar chapas fotogr-
ficas atravs de papel preto. Produziam foto-
grafias que revelavam moedas nos bolsos e os
ossos das mos. Estes raios desconhecidos so
chamados simplesmente de x.
1.7.6 Radiao de nutrons
Nutrons so partculas muito penetran-
tes. Originam-se do espao externo, por coli-
ses de tomos na atmosfera, e por quebra ou
fico de certos tomos dentro do reator nu-
clear. gua e concreto so as formas mais co-
muns usadas como barreiras contra radiao
por nutrons.
Resduos Radiativos
Entre todas as formas de lixo, os resduos
radiativos so os mais perigosos. Substncias
radiativas so usadas como combustvel em
usinas atmicas de gerao de energia eltri-
ca, em motores de submarinos nucleares e em
equipamentos mdico-hospitalares. Mesmo
depois de esgotarem sua capacidade como
combustvel, no podem ser destrudas e per-
manecem em atividade durante milhares e at
milhes de anos. Despejos no mar e na atmos-
fera so proibidos desde 1983, mas at hoje
no existem formas absolutamente seguras de
armazenar essas substncias. As mais reco-
mendadas so tambores ou recipientes imper-
meveis de concreto, prova de radiao, que
devem ser enterrados em reas geologicamente
estveis. Essas precaues, no entanto, nem
sempre so cumpridas e os vazamentos so
freqentes. Em contato com o meio ambiente,
as substncias radiativas interferem diretamen-
te nos tomos e molculas que formam os te-
cidos vivos, provocam alteraes genticas e
cncer.
Limites mximos de doses permissveis
Conforme norma C.N.E.N. Ne-3.01 so
admitidos os seguintes nveis:
Para indivduos do pblico:
0,05 mRem/h ..................... 0,0005 mSv/h
0,4 mRem/dia ................. 0,004 mSv/dia
2,0 mRem/semana ..... 0,02 mSv/semana
100 mRem/ano (0,1 Rem) ..... 1,00 mSv/ano
Para trabalhadores
2,5 mRem/h ......................... 0,25 mSv/h
20 mRem/dia ..................... 0,2 mSv/dia
100 mRem/semana ....... 1,0 mSv/semana
500 mRem/ano ...................... 50 mSv/ano
Unidades de Radioatividade do
Sistema Internacional
Equivalente de dose de uma
radiao igual a 1 joule por
quilograma. Nome especial
para a unidade SI adotada
pela 16a CGPM/1979.
Atividade
Grandeza Nome Smbolo Definio
becquerel Bq
Atividade na qual se produz
uma desintegrao nuclear
por segundo.
Exposio coulomb/Kg C/kg
Exposio tal que a carga to-
tal de ons de mesmo sinal
produzidos em 1 quilograma
de ar de 1 coulomb em va-
lor absoluto.
Dose
absorvida
gray Gy
Dose de radiao ionizante
absorvida uniformemente
por uma poro de matria,
razo de 1 joule por qui-
lograma de sua massa.
Equivalente
de dose
sievert Sv
Higiene Industrial
25
IRRADIADOR
Principais itens a serem inspecionados em um irradiador.
CABO DE COMANDO
Cabo de comando com unidade de comando para avano e retrao.
Tubo guia da fonte (extenso) usado para ensaios radiogrficos panormicos.
26
Higiene Industrial
Smbolo da presena de radiao.
Deve ser respeitado e no temido.
CAVALETE E BANDEIROLA DE INTERDIO
CONFORTO GERA SADE
Higiene Industrial
27
LER a terminologia do nosso pas para
designar afeces msculo-tendinosas que
atingem, principalmente, os membros superio-
res at a regio crvico-braquial, em decorrn-
cia de um conjunto de fatores existentes no
trabalho. Tem-se constitudo em um grande
problema da sade pblica em muitos dos pa-
ses industrializados. Esta terminologia pode-
r ser modificada para DORT Distrbios
Osteomusculares Relacionados ao Trabalho,
nas normas tcnicas para avaliao de incapa-
cidades da Previdncia Social de 1997 (Di-
rio oficial de 11/06/97), o que tem gerado em
todo pas muitos fruns de discusso.
1. Conseqncias de uma ler instalada
Uma vez portadora de LER, a pessoa co-
mumente sofre com:
perda da capacidade produtiva;
perda de movimentos bsicos;
perda da auto-estima pelo sentimento
de inutilidade;
depresso profunda;
falta de vontade para reagir;
sentimentos de culpa, de revolta, de in-
capacidade fsica e psicolgica peran-
te a vida.
2. Aspectos a considerar
A designao genrica LER enfatiza os
movimentos repetitivos. Tal condio, embo-
ra necessria, no suficiente pois pianistas,
digitadores, taqugrafos, datilgrafos, em si-
tuao de uso muito intenso das mos, s ve-
zes passam toda a vida sem manifestarem a
doena. Isto sugere que outros fatores atuam
em conjunto para o aparecimento de LER.
A seguir esto relacionados fatores adicio-
nais que contribuem para o surgimento ou agra-
vamento das LER:
Fatores ambientais
Postura e rotina de trabalho inadequadas;
mobilirio inadequado mesa, cadei-
ra, mouse, teclado, suportes;
caractersticas da profisso.
Fatores fsicos
Condio fsica estrutura muscular e
nervosa por falta de uma atividade f-
sica sistemtica, os msculos atrofiam-
se com o tempo e as pessoas armaze-
nam tenses que predispem doena;
condio orgnica grau de sade
muitas vezes, a pessoa j est debilita-
da, o que facilita o acesso doena.
Fatores psicolgicos
Inseguranas e Medos alarmante o
nmero de empregados de empresas
estatais acometidos de LER, em rela-
o aos demais trabalhadores, o que
sugere uma forte ligao com a
somatizao dos medos de perda da es-
tabilidade que os protegia;
viso de mundo pessoas pessimistas,
introspectivas e com uma viso mais
restrita do mundo so mais susceptveis;
incapacidade de assimilao das mu-
danas.
No dizer da Dra. Leny Sato
(1)
:
Os aspectos emocionais so responsveis
por mais de 60% do agravamento do que
chamado LER.
3. Estgios evolutivos da ler
Grau I Sensao de peso e desconforto
no membro afetado dor espontnea, leve e
fugaz, sinais clnicos ausentes. Tem bom prog-
nstico.
Grau II Dor persistente e mais intensa,
aparece de forma intermitente, formigamen-
tos e calor; ocorre a reduo de produtivida-
de. Prognstico favorvel.
Grau III Dor persistente, mais forte e tem
irradiao definida. Prognstico reservado.
Grau IV Dor forte, contnua, insupor-
tvel e intenso sofrimento; alteraes psicol-
gicas com quadros de depresso, ansiedade e
angstia. Prognstico sombrio.
4. Diagnstico
Existem vrias formas clnicas das LER,
das quais as mais freqentes so as causado-
ras de inflamaes de tecidos, tendes, fascias
e ligamentos, msculos e nervos, de extenso
aguda ou crnica, que podem ocorrer isoladas
ou associadas.
O diagnstico essencialmente clnico,
pois depende principalmente, na queixa do
paciente, em seu discurso sobre a dor e na sua
histria clnica ocupacional, j que no se pode
ver as LER. E ainda atravs de um exame
fsico detalhado, exames complementares
quando necessrios, levando-se tambm em
conta a anlise das condies de trabalho que
propiciaram o surgimento da leso.
Os casos de LER diagnosticados precoce-
mente tm bom prognstico, desde que o tra-
tamento seja iniciado de imediato.
(1) Dra. Leny Sato, Psicloga pela USP. Mestre em Psicologia Social - PUC-
SP, professora do Depto. de Psicologia Social do Trabalho - USP.
28
Higiene Industrial
O fator desconhecimento da doena, tem cau-
sado srios desvios de tratamento e levado os
pacientes a uma verdadeira peregrinao por
um diagnstico, em muitos casos, aumentan-
do os temores em relao ao futuro e piorando
o quadro psicossomtico dos mesmos.
O uso de eletroneuromiografia como ins-
trumento de diagnstico mostra-se altamente
doloroso. O sentimento dos portadores de
que h sensvel piora dos sintomas.
Desde 1993, o INSS reconhece as diver-
sas manifestaes de LER em qualquer fun-
o exercida, desde que estabelecida a relao
entre a leso e o trabalho. Entre as LER reco-
nhecidas oficialmente esto as epicondilites,
bursites, cistos sinoviais, tendinites etc.
A emisso de CAT Comunicao de Aci-
dente de Trabalho, mesmo nos casos iniciais,
deve ser efetuada por mdico da empresa, SUS
e demais profissionais de sade.
5. Preveno da ler
Medidas simples resultados significativos
Pequenas modificaes no processo e or-
ganizao do trabalho, com diversificao das
tarefas e reduo do tempo de exposio mos-
tram-se bastante eficazes. Deve-se adequar os
mveis e equipamentos do ponto de vista
ergonmico. Cabe estudo ergonmico dos pos-
tos de trabalho nas empresas que, a exemplo
da PETROBRAS, possuem CIPA ou rgos
especializados em engenharia de segurana e
medicina do trabalho.
Atividades em grupo para esclarecimento
e adoo de uma postura proativa diante da
situao tambm zelam por condies higi-
nicas no trabalho e melhoria da qualidade de
vida dos envolvidos.
Deve-se, ainda, monitorar os empregados
no s em nvel de suas condies ergonmi-
cas, mas das condies clnicas, grau de su-
cesso no trabalho, auto-estima e nvel de socia-
bilidade e cooperao na Organizao.
Fator no menos importante, nesse mo-
mento em que a globalizao e a competio
intensa ditam novas formas de trabalho, de
modo que as pessoas da organizao sentam-
se atualizadas. Capacit-las para as novas de-
mandas, tanto tcnicas quanto interpessoais,
devolve-lhes a autoconfiana e a auto-estima,
prepara-as para o convvio com as incertezas
do futuro.
Devemos aumentar a estrutura, quando se
aumenta a exigncia Antnio Tadeu Benatti
(2)
.
(2) Dr. Antnio Tadeu Benatti - consultor, diretor da Benatti & Benatti S/C
Associados.
1.8 PPEOB: Programa de Preveno da
Exposio Ocupacional ao Benzeno
1.8.1 Objetivos
Preservar a sade das pessoas;
Preservar o meio ambiente;
Prevenir acidentes e ocorrncias anor-
mais.
1.8.2 Propriedades toxicolgicas
Classificao: Cancergeno
Limite de tolerncia (NR-15): No h
Valor de Referncia Tecnolgico
(VRT): 1 ppm
Absoro pela pele: SIM
Limite de Odor: 12 ppm (ACGIH
1991).
Benzeno (C
6
H
6
)
Informaes gerais
um lquido incolor, voltil, com odor
aromtico caraterstico. O benzeno costuma ser
referido como benzol, uma mistura de ben-
zeno com outros hidrocarbonetos aromticos
(tolueno e xileno). No deve ser confundido
com benzina, que uma mistura heterognea
de vrios hidrocarbonetos alifticos (pentano,
hexano, heptano) e aromticos (tolueno,
xileno e pequenas quantidades de benzeno).
A benzina usada como solvente comercial.
Usos: matria-prima e intermedirio na
produo de grande nmero de substncias
qumicas, a exemplo do estireno, fenol, ciclo-
hexano, anidrido maleico, etc., indstria de
detergentes, indstria de explosivos, indstria
farmacutica, indstria de inseticidas, inds-
tria de fotogravura, indstria da borracha, in-
dstria de plsticos, produo de solventes e
removedores de tintas, etc.
O benzeno pode estar presente como con-
taminante em diversos produtos, como tintas,
colas e vernizes.
Na indstria do petrleo, usado em for-
ma pura nos laboratrios, para anlise, e est
presente como contaminante em diversos de-
rivados, como gasolina, hexano, querosene,
tolueno, etc.
Sinnimos: benzol, ciclo-hexatrieno, bi-
carbureto de hidrognio, nafta mineral.
Grau de Insalubridade (NR 15)
Mximo.
Grau de risco sade (API)
Moderado exposio aguda e alto ex-
posio crnica excessiva.
Higiene Industrial
29
Classificao de carcinogenicidade ocu-
pacional (ACGIH / 95-96)
Confirmado como carcinognico para o
homem.
Limites de tolerncia
LT-MP ou TLV-TWA (ACGIH / 95-96) = 10
ppm, 32 mg/m
3
LT-MP ou TLV-TWA (OSHA) = 1 ppm
IDLH (NIOSH) = 3.000 mg/m
3
MAC (Rssia) = 5 mg/m
3
VRT-MPT - NR 15 (Brasil) = 1 ppm (inds-
trias em geral)
PROPOSTA DE MUDANA:
LT-MP ou TLV-TWA (ACGIH / 95-96) = 0, 3
ppm, 0, 96 mg/m
3
1.8.3 Toxicocintica e toxicodinmica
Exposio aguda
O benzeno altamente voltil, e por ser
muito lipossolvel, rapidamente absorvido
pela via respiratria ao ser inalado, distribu-
do e armazenado em tecidos ricos em gordu-
ras como o sistema nervoso central e medula
ssea.
Cerca de 50% do total de benzeno inalado
so absorvidos. Do total absorvido, 10 a 50%
so eliminados pela urina, aps biotransfor-
mao em maior proporo no fgado, em
metablitos solveis em gua como fenol
(30%), hidroquinona (1%) e catecol (3%), que
so conjugados com a glicina e o cido glu-
curnico.
A eliminao do benzeno inalterado no
ar exalado tem trs fases:
1 Fase: muito rpida, que ocorre 2 a 3
horas aps a exposio; provm da frao de
benzeno dissolvida no sangue.
2 Fase: intermediria, no perodo de 3 a
7 horas; o benzeno provm dos demais teci-
dos, exceto o gorduroso.
3 Fase: lenta, no perodo de 30 horas; o
benzeno provm do tecido gorduroso.
O efeito agudo na via respiratria mani-
festa-se atravs de irritao de brnquios e la-
ringe, surgindo tosse, rouquido e edema pul-
monar. O benzeno atua, porm, predominan-
temente, sobre o sistema nervoso central como
depressor, levando ao aparecimento de fadi-
ga, dor de cabea, tontura, convulso, coma
e morte em conseqncia de parada respirat-
ria. O benzeno predispe a arritmias cardacas
graves, como a fibrilao ventricular, devido
sensibilizao do miocrdio. A exposio a
altas concentraes (20.000 ppm) rapidamen-
te fatal (Quadro 1).
O benzeno na forma lquida pode ser ab-
sorvido atravs da pele, onde pode provocar
efeitos irritantes como dermatite de contato,
eritema (reas avermelhadas) e bolhas, pelo
efeito desengordurante.
O contato com os olhos provoca sensao
de queimao, com leso das clulas epiteliais.
A ingesto do benzeno provoca sensao
de queimao na mucosa oral, faringe e no
esfago, dor retroesternal e tosse. A ingesto
da substncia na dosagem de 15 a 20 mL pode
provocar a morte no adulto.
Exposio crnica
A exposio crnica ao benzeno pode pro-
duzir toxicidade na medula ssea que pode tra-
duzir-se em anemia aplstica e leucemia agu-
da. Aberraes nos cromossomos tm sido
observadas em animais e homens expostos ao
benzeno, tanto em clulas da medula ssea
como em linfcitos perifricos da corrente
sangnea.
Quadro 1. Efeitos do organismo a diferentes con-
centraes do benzeno
Fonte: American Petroleum Institute.
25
50 - 100
500
7.000
20.000
Concentrao de
Vapores de Benzeno
(ppm)
Tempo de
exposio
8 horas
6 horas
1 hora
30 min
5 min
Resposta
Nenhuma
Leve sonolncia e dor
de cabea leve
Sintomas de toxicidade aguda
Perigoso para a vida,
efeitos depressores
Fatal
Estas doenas sangneas, encontradas na
exposio crnica ao benzeno, tm sido atri-
budas aos seus metablitos. Atravs das rea-
es de oxidao, principal via metablica da
biotrnasformao do benzeno, forma-se o ben-
zeno epxido, uma substncia altamente
reativa, cuja atuao sobre cidos nuclicos de
clulas da prpria medula ssea explicaria a
toxicidade do benzeno.
O quadro de anemia plasmtica, em seu
estgio inicial, pode apresentar alteraes
hematolgicas paradoxais: policitemia ou ane-
mia, leucocitose ou leucopenia, trombocitose
ou trombocitopenia. Com a continuidade da
30
Higiene Industrial
evoluo, h reduo dos eritrcitos (glbulos
vermelhos), dos leuccitos e das plaquetas,
de modo que possvel a ocorrncia de pan-
citopenia (diminuio global das clulas san-
gneas). A trombocitopenia leva a manifes-
taes hemorrgicas (prpura, hemorragia
nasal e gengival, equimoses, etc.). A leucopenia
favorece quadros infecciosos. A reduo dos
eritrcitos pode levar a quadros graves de
anemia.
As leucemias por benzeno so, na sua
maioria, leucemias mieloblsticas agudas.
Ocorrem, mais freqentemente, em indivdu-
os que apresentavam anemia aplstica. Por
vezes, a leucemia instala-se muito tempo aps
cessar a exposio ao benzeno. O benzeno
classificado como cancergeno pela IARC,
NIOSH e ACGIH.
A exposio prolongada ao benzeno tam-
bm pode produzir fadiga, nuseas, perda do
apetite, vertigem, dor de cabea, irritabilida-
de, nervosismo. O contato prolongado com a
pele causa secura, fissura e dermatite.
O benzeno tem efeitos hepatotxicos (t-
xicos ao fgado), na exposio prolongada.
Controle da exposio e preveno da intoxicao
Uso de roupas impermeveis, luvas de
PVC, mscara com filtro qumico.
Medidas de controle ambiental.
Primeiros Socorros
Na inalao
Remover da rea de exposio, para lo-
cal com ar fresco. Administrar oxignio 100%
umidificado. Ventilao assistida e ressusci-
tao, se necessrio. Se ocorrer tosse e difi-
culdade para respirar, avaliar a existncia de
irritao pulmonar, bronquite e pneumonite.
Vigilncia para efeitos depressores do siste-
ma nervoso central.
Na ingesto
A induo do vmito poder ser indicada
em ingesto recente de grande quantidade de
benzeno e se o paciente estiver consciente.
Usar xarope de ipeca. Se no houver vmito
com duas doses do xarope, poder-se- optar
pela lavagem gstrica como tentativa para o
esvaziamento da quantidade absorvida. A la-
vagem gstrica dever ser acompanhada de
cuidados extremos, para previnir a aspirao
para os pulmes.
O carvo ativado em soluo tem demons-
trado ser til pela diminuio da absoro do
benzeno.
Tratar convulses com diazepam e feni-
tona.
No contato com a pele
Lavar com sabo e gua em abundncia.
No contato com os olhos
Lavar em gua corrente durante 15 minu-
tos. Se irritao, dor, edema, lacrimejamento
ou fotofobia persistirem aps 15 minutos,
encaminhar ao oftalmologista.
Controle biolgico
Dosagem do benzeno exalado.
Dosagem urinria do cido fenil mer-
captrico.
Dosagem urinria do cido trans-trans-
mucnico.
Dosagem do benzeno na urina.
Hemograma.
Contagem de plaquetas.
Reticulcitos.
Nome: monxido de carbono (CO)
Descrio: um gs incolor, sem cheiro,
com densidade menor que a do ar, produzido
pela combusto incompleta de material org-
nico ou carbonceo. Na indstria do petrleo,
as principais fontes emissoras esto no refino
nas unidades de craqueamento e regenerao e
queima de derivados (caldeira de CO), fornos e
flare. Sinnimos: xido carbnico, xido de
carbono, gs de exausto, gs de chamin.
Ponto de fulgor: Limite inferior de ex-
plosividade: 12,5%, Limite superior de explo-
sividade: 74, 2%
Limites de tolerncia:
NR-15: 39 ppm (43 mg/m)
ACGIH: TWA: 25 ppm (29 mg/m)
OSHA: PEL: 35 ppm (40 mg/m)
NIOSH:REL: 35 ppm (40 mg/m)
CEIL: 200 ppm (229 mg/m)
CEIL: 200 ppm (229 mg/m)
Higiene Industrial
31
50
100
250
500
1000
10000
Concentrao de
Vapores de Benzeno
(ppm)
Tempo Mdio
p/acumulo
(min)
150
120
120
90
60
5
Concentrao %
Carboxiemoglobina
7
12
25
45
60
95
Sintomas
Dor de cabea
Dor de cabea moderada e tontura
Nuseas e vmitos
Colapso
Coma
Morte
Temperatura de auto-ignio: 609C.
Onde ocorre na refinaria: secra (caldei-
ra de CO).
Primeiros socorros:
Executar imediatamente as seguintes me-
didas, na ordem indicada: Remover a vtima
do local contaminado; aplicar a respirao ar-
tificial, caso a vtima esteja inconsciente e sem
respirar; mant-la bem agasalhada e longe das
correntes de ar; providenciar socorro mdico.
A vtima no dever receber nenhum alimen-
to (slido ou lquido).
Riscos sade:
A mais importante via de penetrao a
respiratria, pois o CO difunde-se rapidamen-
te atravs da membrana alveolar, chega cor-
rente sangnea, onde se une hemoglobina
das hemcias e forma carboxihemoglobina,
com interferncia imediata do suprimento de
oxignio atividade celular dos tecidos, pela
impossibilidade da carboxihemoglobina trans-
portar oxignio. Como a hemoglobina tem uma
grande afinidade pelo CO, cerca de 200-300
vezes maior que a do oxignio, em conse-
qncia, pequenas quantidades da substncia
no ar suficiente para que os seus efeitos se
manifestem. Os efeitos clnicos da intoxica-
o pelo CO so reflexo da hipxia dos teci-
dos e, possivelmente, pela inibio do sistema
citocromo em nvel celular. Dessa forma, as
manifestaes primrias desenvolvem-se nos
sistemas orgnicos mais dependentes da utili-
zao do oxignio que so o sistema nervoso
central e o miocrdio (msculo do corao).
Riscos txicos: Um envenenamento por mon-
xido de carbono, pode resultar em leses no
crebro, sistema nervoso e hemorragia capilar.
Precaues:
Usar mscara com filtro cartucho SW, que
oferece proteo contra concentraes de at
1% (10.000 ppm) de CO, no ar e em locais
ventilados. Acima desta concentrao ou em
trabalhos em locais confinados, dever ser
usado equipamento autnomo de respirao ou
ar mandado.
Risco de incndio: Misturas de CO (Mo-
nxido de carbono) e ar, dentro dos limites de
explosividade, representam riscos de incndio
e exploso.
Nome: H
2
S Gs sulfdrico
Descrio: O gs sulfdrico, tambm co-
nhecido como cido sulfdrico ou sulfeto de
hidrognio, um gs incolor, inflamvel, as-
fixiante, com odor de ovo podre.
Utilizao: um subproduto decorrente
do processamento de leo cru com alto teor
de enxofre, porm pode estar presente tambm
nos produtos intermedirios em concentraes
variadas. Pode ser considerado impureza, que
vai sendo eliminada em cada um dos proces-
sos de refinao ou matria-prima em refina-
rias que possuem unidades de enxofre.
Densidade: 1, 189
Solubilidade em gua: mdia
Temperatura de auto-ignio: 260C
Estado fsico: gs
Limites de tolerncia:
NR-15: 8 ppm (12 mg/m)
ACGIH: TWA: 10 ppm (14 mg/m)
OSHA: PEL:10 ppm(14 mg/m),
STEL: 15 ppm (21 mg/m), STEL: 15 ppm
(21 mg/m)
0,0005 - 0,13
10 - 21
50 - 100
150 - 200
200 - 300
900
1800 - 3700
Concentrao H
2
S
(ppm)
Tempo de
exposio
1 mim
6-7 horas
4 horas
15 min
20 min
1 min
Instantes
Efeitos
Percepo do odor
Irritao ocular
Conjuntivite
Perda do olfato
Inconscincia, hipotenso,
edema pulmonar, convulso,
tontura, desorientao
Inconscincia e morte
Morte
32
Higiene Industrial
Onde encontrado na refinaria: o gs
sulfdrico poder estar presente em quase todas
as unidades de processo, na rea de armazena-
mento e sistema de drenagem de gua oleosa.
Forma de avaliao: aparelhos de de-
teco.
Risco de incndio: o gs sulfdrico um
gs altamente inflamvel que queima com uma
chama azul, dando origem a DIXIDO de
enxofre, um gs muito irritante. Por ser um
gs mais denso que o ar, pode acumular-se em
reas mais baixas ou depresses e espalhar-se
pelo cho, podendo ir de encontro a fontes de
ignio. Os equipamentos que contm gs
sulfdrico podem sofrer processo de corroso
com criao de camadas de sulfeto de ferro no
seu interior. Tal sulfeto torna-se perigoso na
abertura desses equipamentos porque em con-
tato com o ar, pode inflamar-se por auto-igni-
o, servindo como fonte de ignio a resduos
inflamveis que possam estar presentes nes-
ses equipamentos. O combate a incndio en-
volvendo gs sulfdrico feito com gua para
resfriamento dos equipamentos e circunscri-
o do incndio at que a fonte de gs possa
ser obstruda para extino; as equipes de com-
bate devem usar equipamentos de proteo
respiratria. Pequenos focos de incndio po-
dem ser combatidos com p qumico seco,
CO
2
ou vapor.
Risco sade:
O gs sulfdrico, um gs altamente txi-
co e irritante, que atua sobre o sistema nervo-
so, olhos e vias respiratrias. A intoxicao
pela substncia pode ser aguda, sub-aguda e
crnica, dependendo da concentrao do gs
no ar, da durao, da freqncia da exposio
e da susceptibilidade individual.
Primeiros socorros:
O gs sulfdrico, quando inalado, afeta fre-
qentemente os pulmes to rpido que no h
tempo para chamar o mdico antes de tentar
ressuscitar a vtima. Portanto, devem ser toma-
das as seguintes medidas, na ordem indicada):
a) retirar a vtima imediatamente para ar
fresco e puro;
b) caso a vtima esteja inconsciente e no
respire, deve ser aplicada, imediata-
mente, a respirao artificial sem inter-
rupo at o reincio natural ou at que
o mdico chegue;
c) o paciente deve estar agasalhado;
d) O SESAU (a equipe de sade/emergn-
cia) deve ser avisado, sem interromper-
se a respirao artificial;
e) A vtima inconsciente no deve rece-
ber alimento slido ou lquido;
f) Em todo caso, a pessoa afetada pelo gs
sulfdrico, ainda que se recupere rapi-
damente, deve ser encaminhada ao
SMS Sade para tratamento e obser-
vao.
Precaues:
Em casos de vazamentos, o pessoal deve
afastar-se do local e somente aproximar-se
devidamente equipado, deve-se diluir o H
2
S
com vapor ou neblina d'gua e sanar a fonte
de vazamento, to logo seja possvel. Cuida-
dos especiais devem ser tomados quanto a
possveis fontes de ignio nas proximidades.
Na drenagem de gua contendo H
2
S, devem
ser instaladas neblinas d'gua para manter o ar
mido, evitando o risco de ignio.
Equipamentos de proteo individual:
Rotina: Mscara com filtro ABEK, cu-
los com armao de borracha luvas e avental
de PVC.
Emergncia: Conjunto autnomo.
Nome: amnia (Sinnimos: Gs Amonaco)
Descrio: um gs facilmente liqefeito
quando comprimido, possui odor caractersti-
co, pungente e penetrante. muito solvel em
gua com a qual forma hidrxido de amnia.
Solvel em lcool etlico, ter etlico e solven-
tes orgnicos. Combustvel. Frmula: NH
3
Utilizao: Na indstria de petrleo, uti-
lizada em processos de destilao como
antioxidante e controlador de pH.
Limites de tolerncia:
NR-15: 20 ppm (14 mg/m)
Acgih:twa: 25 ppm (17 mg/m)
OSHA: STEL: 35 ppm, STEL: 35 ppm
(24 mg/m)
NIOSH:REL: 25 ppm (18 mg/m),
STEL: 35 ppm (27 mg/m)
Temperatura de auto-Ignio: 651C.
Onde ocorre na refinaria: sedide.
Risco de incndio: Em caso de fogo, a
amnia deve ser mantida afastada de leo ou
outro material combustvel. Deve ser evitada
mistura com cidos fortes, cloro, bromo ou
iodo, que podero causar exploses. Agente
extintor recomendado: gua, DIXIDO de
carbono e p qumico.
Higiene Industrial
33
Risco sade:
Por contato: destruio dos tecidos das
mucosas do nariz e dos olhos, derma-
toses e queimaduras na pele.
Por inalao: efeitos irritantes nas vias
respiratrias superiores, dispnia e tos-
se. Tambm tem-se observado broncop-
neumopatias agudas e sub-agudas.
Por ingesto: destruio corrosiva da
mucosa da faringe, esfago e estma-
go. A ingesto de uma pequena colher
de ch de amnia concentrada pode
causar a morte.
Primeiros socorros:
1. contato com a pele, mucosa e olhos:
remover imediatamente a roupa conta-
minada. Lavar a pele e olhos com gua
em abundncia, pelo menos durante
15 minutos. Chamar o mdico.
2. em caso de ingesto:
chamar o mdico imediatamente.
3. se o acidentado estiver consciente:
provocar o vmito estimulando com
gua morna salgada ou com o dedo.
Depois, dar gua aos goles, pausada-
mente. Se disponvel, dar vinagre
diludo ou suco de limo, aos goles,
pausadamente;
manter o acidentado deitado, calmo
e aquecido at a chegada do mdico;
administrar oxignio ou respirao
artificial, se necessrio.
4. se o acidentado estiver inconsciente:
no dar nenhum lquido para beber;
no provocar vmito;
atentar para que no ocorra parada
respiratria;
manter o acidentado deitado, calmo
e aquecido at a chegada do mdico;
se o mesmo vomitar, manter sua
cabea virada para o lado.
5. em caso de inalao excessiva de va-
pores de amnia:
remover o acidentado para uma
atmosfera no contaminada. Chamar
o mdico. Fazer respirao artificial,
se necessrio.
Precaues:
evitar contato com a pele e olhos;
no respirar diretamente os vapores ao
abrir um recipiente que contenha amnia;
comunicar ao mdico alguma queima-
dura atravs de contato com amnia;
certificar-se de que o equipamento de
exausto e ventilao esteja fun-
cionando durante o perodo de tra-
balho;
manusear e abrir com cuidado reci-
pientes e sistemas de amnia;
vazamentos:
evacuar o local;
lavar com gua em excesso;
remover ou isolar o recipiente com
vazamento em rea bem ventilada,
transferindo o contedo para outro
recipiente.
Equipamentos de proteo individual:
Rotina: Mscara V.P. com filtro qumico
ABEK, avental e luva de PVC.
Emergncia: conjunto autnomo de res-
pirao e proteo completa de PVC para o
corpo.
Forma de armazenamento:
Recipientes que contenham amnia de-
vem ser devidamente rotulados e esto-
cados em posio vertical, ao abrigo
dos raios solares, do calor e dos pro-
dutos sujeitos a reagir com amnia;
Os locais de armazenagem devem ser
bem ventilados;
A instalao eltrica dever ser do tipo
blindado, ao abrigo da ao corrosiva
do gs amonaco;
Devero ser tomadas medidas para que,
em caso de acidente, no haja derra-
mamento direto do produto no esgoto;
Nas proximidades do local de armaze-
nagem, dever ser instalada uma toma-
da de gua. Mscaras devero estar em
local de fcil acesso.
1.9 NR 17 Ergonomia
17.1. Esta Norma Regulamentadora visa
a estabelecer parmetros que permitam a
adaptao das condies de trabalho s ca-
ractersticas psicofisiolgicas dos trabalha-
dores, de modo a proporcionar um mxi-
mo de conforto, segurana e desempenho
eficiente.
34
Higiene Industrial
17.1.1. As condies de trabalho incluem
aspectos relacionados ao levantamento,
transporte e descarga de materiais, ao
mobilirio, aos equipamentos e s condi-
es ambientais do posto de trabalho, e
prpria organizao do trabalho.
17.1.2. Para avaliar a adaptao das con-
dies de trabalho s caractersticas psi-
cofisiolgicas dos trabalhadores, cabe ao
empregador realizar a anlise ergonmica
do trabalho, devendo a mesma abordar, no
mnimo, as condies de trabalho, confor-
me estabelecido nesta Norma Regulamen-
tadora.
17.2. Levantamento, transporte e descar-
ga individual de materiais.
17.2.1. Para efeito desta Norma Regula-
mentadora:
17.2.1.1. Transporte manual de cargas de-
signa todo transporte no qual o peso da
carga suportado inteiramente por um s
trabalhador, compreendendo o levanta-
mento e a deposio da carga.
17.2.1.2. Transporte manual regular de
cargas designa toda atividade realizada de
maneira contnua ou que inclua, mesmo
de forma descontnua, o transporte manual
de cargas.
17.2.1.3. Trabalhador jovem designa todo
trabalhador com idade inferior a 18 (de-
zoito) anos e maior de 14 (quatorze) anos.
17.2.2. No dever ser exigido nem admi-
tido o transporte manual de cargas, por um
trabalhador cujo peso seja suscetvel de
comprometer sua sade ou sua seguran-
a. (117.001-5 / I1)
17.2.3. Todo trabalhador designado para
o transporte manual regular de cargas, que
no as leves, deve receber treinamento ou
instrues satisfatrias quanto aos mto-
dos de trabalho que dever utilizar, com
vistas a salvaguardar sua sade e prevenir
acidentes. (117.002-3 / I2)
17.2.4. Com vistas a limitar ou facilitar o
transporte manual de cargas, devero ser
usados meios tcnicos apropriados.
17.2.5. Quando mulheres e trabalhadores
jovens forem designados para o transpor-
te manual de cargas, o peso mximo des-
tas cargas dever ser nitidamente inferior
quele admitido para os homens, para no
comprometer a sua sade ou a sua segu-
rana. (117.003-1 / I1)
17.2.6. O transporte e a descarga de mate-
riais feitos por impulso ou trao de
vagonetes sobre trilhos, carros de mo ou
qualquer outro aparelho mecnico deve-
ro ser executados de forma que o esforo
fsico realizado pelo trabalhador seja com-
patvel com sua capacidade de fora e no
comprometa a sua sade ou a sua segu-
rana. (117.004-0 / 11)
17.2.7. O trabalho de levantamento de
material feito com equipamento mecnico
de ao manual dever ser executado de
forma que o esforo fsico realizado pelo
trabalhador seja compatvel com sua capa-
cidade de fora e no comprometa a sua
sade ou a sua segurana. (117.005-8 / 11)
17.3. Mobilirio dos postos de trabalho.
17.3.1. Sempre que o trabalho puder ser
executado na posio sentada, o posto de
trabalho deve ser planejado ou adaptado
para esta posio. (117.006-6 / I1)
17.3.2. Para trabalho manual sentado ou
que tenha de ser feito em p, as bancadas,
mesas, escrivaninhas e os painis devem
proporcionar ao trabalhador condies de
boa postura, visualizao e operao e
devem atender aos seguintes requisitos
mnimos:
a) ter altura e caractersticas da superfcie
de trabalho compatveis com o tipo de
atividade, com a distncia requerida dos
olhos ao campo de trabalho e com a
altura do assento; (117.007-4 / I2)
b) ter rea de trabalho de fcil alcance e
visualizao pelo trabalhador;
(117.008-2 / I2)
c) ter caractersticas dimensionais que
possibilitem posicionamento e movi-
mentao adequados dos segmentos
corporais. (117.009-0 / I2)
17.3.2.1. Para trabalho que necessite tam-
bm da utilizao dos ps, alm dos re-
quisitos estabelecidos no subitem 17.3.2,
os pedais e demais comandos para acio-
namento pelos ps devem ter posiciona-
mento e dimenses que possibilitem fcil
alcance, bem como ngulos adequados
entre as diversas partes do corpo do traba-
lhador, em funo das caractersticas e
peculiaridades do trabalho a ser executa-
do. (117.010-4 / I2)
17.3.3. Os assentos utilizados nos postos
de trabalho devem atender aos seguintes
requisitos mnimos de conforto:
Higiene Industrial
35
ajust-lo de acordo com as tarefas a se-
rem executadas; (117.020-1 / I2)
c) a tela, o teclado e o suporte para docu-
mentos devem ser colocados de maneira
que as distncias olho-tela, olhoteclado
e olho-documento sejam aproximada-
mente iguais; (117.021-0 / I2)
d) serem posicionados em superfcies de
trabalho com altura ajustvel.
(117.022-8 / I2)
17.4.3.1. Quando os equipamentos de pro-
cessamento eletrnico de dados com ter-
minais de vdeo forem utilizados eventual-
mente podero ser dispensadas as exign-
cias previstas no subitem 17.4.3, observa-
da a natureza das tarefas executadas e le-
vando-se em conta a anlise ergonmica
do trabalho.
17.5. Condies ambientais de trabalho.
17.5.1. As condies ambientais de traba-
lho devem estar adequadas s caractersti-
cas psicofisiolgicas dos trabalhadores e
natureza do trabalho a ser executado.
17.5.2. Nos locais de trabalho onde so exe-
cutadas atividades que exijam solicitao
intelectual e ateno constantes, tais como:
salas de controle, laboratrios, escritrios,
salas de desenvolvimento ou anlise de pro-
jetos, dentre outros, so recomendadas as
seguintes condies de conforto:
a) nveis de rudo de acordo com o esta-
belecido na NBR 10152, norma brasi-
leira registrada no INMETRO;
(117.023-6 / I2)
b) ndice de temperatura efetiva entre 20
o
C
(vinte) e 23
o
C (vinte e trs graus cent-
grados); (117.024-4 / I2)
c) velocidade do ar no superior a 0,75m/s;
(117.025-2 / I2)
d) umidade relativa do ar no inferior a 40
(quarenta) por cento. (117.026-0 / I2)
17.5.2.1. Para as atividades que possuam
as caractersticas definidas no subitem
17.5.2, mas no apresentam equivalncia
ou correlao com aquelas relacionadas na
NBR 10152, o nvel de rudo aceitvel para
efeito de conforto ser de at 65 dB (A) e
a curva de avaliao de rudo (NC) de va-
lor no superior a 60 dB.
17.5.2.2. Os parmetros previstos no
subitem 17.5.2 devem ser medidos nos
postos de trabalho, sendo os nveis de ru-
do determinados prximos zona auditi-
va e as demais variveis na altura do trax
do trabalhador.
a) altura ajustvel estatura do trabalha-
dor e natureza da funo exercida;
(117.011-2 / I1)
b) caractersticas de pouca ou nenhuma
conformao na base do assento;
(117.012-0 / I1)
c) borda frontal arredondada;
(117.013-9 / I1)
d) encosto com forma levemente adapta-
da ao corpo para proteo da regio
lombar. (117.014-7 / II)
17.3.4. Para as atividades em que os tra-
balhos devam ser realizados sentados, a
partir da anlise ergonmica do trabalho,
poder ser exigido suporte para os ps, que
se adapte ao comprimento da perna do tra-
balhador. (117.015-5 / I1)
17.3.5. Para as atividades em que os tra-
balhos devam ser realizados de p, devem
ser colocados assentos para descanso em
locais em que possam ser utilizados por
todos os trabalhadores durante as pausas.
(117.016-3 / I2)
17.4. Equipamentos dos postos de trabalho.
17.4.1. Todos os equipamentos que com-
pem um posto de trabalho devem estar
adequados s caractersticas psicofisiol-
gicas dos trabalhadores e natureza do
trabalho a ser executado.
17.4.2. Nas atividades que envolvam lei-
tura de documentos para digitao, dati-
lografia ou mecanografia deve:
a) ser fornecido suporte adequado para
documentos que possa ser ajustado
proporcionando boa postura, visualiza-
o e operao, evitando movimenta-
o freqente do pescoo e fadiga vi-
sual; (117.017-1 / I1)
b) ser utilizado documento de fcil
legibilidade sempre que possvel, sen-
do vedada a utilizao do papel brilhan-
te, ou de qualquer outro tipo que pro-
voque ofuscamento. (117.018-0 / I1)
17.4.3. Os equipamentos utilizados no pro-
cessamento eletrnico de dados com termi-
nais de vdeo devem observar o seguinte:
a) condies de mobilidade suficientes
para permitir o ajuste da tela do equi-
pamento iluminao do ambiente,
protegendo-a contra reflexos, e propor-
cionar corretos ngulos de visibilidade
ao trabalhador; (117.019-8 / I2)
b) o teclado deve ser independente e ter
mobilidade, permitindo ao trabalhador
36
Higiene Industrial
b) devem ser includas pausas para des-
canso; (117.030-9 / I3)
c) quando do retorno do trabalho, aps
qualquer tipo de afastamento igual ou
superior a 15 (quinze) dias, a exign-
cia de produo dever permitir um re-
torno gradativo aos nveis de produo
vigentes na poca anterior ao afasta-
mento. (117.031-7 / I3)
17.6.4. Nas atividades de processamento
eletrnico de dados, deve-se, salvo o dis-
posto em convenes e acordos coletivos
de trabalho, observar o seguinte:
a) o empregador no deve promover qual-
quer sistema de avaliao dos trabalha-
dores envolvidos nas atividades de
digitao, baseado no nmero indivi-
dual de toques sobre o teclado, inclusi-
ve o automatizado, para efeito de re-
munerao e vantagens de qualquer es-
pcie; (117.032-5)
b) o nmero mximo de toques reais exi-
gidos pelo empregador no deve ser su-
perior a 8 (oito) mil por hora trabalha-
da, sendo considerado toque real, para
efeito desta NR, cada movimento de
presso sobre o teclado; (117.033-3 / I3)
c) o tempo efetivo de trabalho de entrada
de dados no deve exceder o limite m-
ximo de 5 (cinco) horas, sendo que, no
perodo de tempo restante da jornada,
o trabalhador poder exercer outras ati-
vidades, observado o disposto no art.
468 da Consolidao das Leis do Tra-
balho, desde que no exijam movimen-
tos repetitivos, nem esforo visual;
(117.034-1 / I3)
d) nas atividades de entrada de dados deve
haver, no mnimo, uma pausa de 10
(dez) minutos para cada 50 (cinqen-
ta) minutos trabalhados, no deduzidos
da jornada normal de trabalho;
(117.035-0 / I3)
e) quando do retorno ao trabalho, aps
qualquer tipo de afastamento igual ou
superior a 15 (quinze) dias, a exign-
cia de produo em relao ao nmero
de tques dever ser iniciado em nveis
inferiores do mximo estabelecido na
alnea b e ser ampliada progressiva-
mente. (117.036-8 / I3)
17.5.3. Em todos os locais de trabalho deve
haver iluminao adequada, natural ou ar-
tificial, geral ou suplementar, apropriada
natureza da atividade.
17.5.3.1. A iluminao geral deve ser uni-
formemente distribuda e difusa.
17.5.3.2. A iluminao geral ou suplemen-
tar deve ser projetada e instalada de for-
ma a evitar ofuscamento, reflexos inc-
modos, sombras e contrastes excessivos.
17.5.3.3. Os nveis mnimos de ilumina-
mento a serem observados nos locais de
trabalho so os valores de iluminncias es-
tabelecidos na NBR 5413, norma brasi-
leira registrada no INMETRO.
(117.027-9 / I2)
17.5.3.4. A medio dos nveis de ilumi-
namento previstos no subitem 17.5.3.3
deve ser feita no campo de trabalho onde
se realiza a tarefa visual, utilizando-se de
luxmetro com fotoclula corrigida para a
sensibilidade do olho humano e em fun-
o do ngulo de incidncia.
(117.028-7 / I2)
17.5.3.5. Quando no puder ser definido
o campo de trabalho previsto no subitem
17.5.3.4, este ser um plano horizontal a
0,75m (setenta e cinco centmetros) do
piso.
17.6. Organizao do trabalho.
17.6.1. A organizao do trabalho deve ser
adequada s caractersticas psicofisiolgi-
cas dos trabalhadores e natureza do tra-
balho a ser executado.
17.6.2. A organizao do trabalho, para
efeito desta NR, deve levar em considera-
o, no mnimo:
a) as normas de produo;
b) o modo operatrio;
c) a exigncia de tempo;
d) a determinao do contedo de tempo;
e) o ritmo de trabalho;
f) o contedo das tarefas.
17.6.3. Nas atividades que exijam sobre-
carga muscular esttica ou dinmica do
pescoo, ombros, dorso e membros supe-
riores e inferiores, e a partir da anlise er-
gonmica do trabalho, deve ser observa-
do o seguinte:
a) para efeito de remunerao e vantagens
de qualquer espcie deve levar em con-
siderao as repercusses sobre a sa-
de dos trabalhadores; (117.029-5 / I3)
Higiene Industrial
37
38
Higiene Industrial
Principios ticos da Petrobras
A honestidade, a dignidade, o respeito, a lealdade, o
decoro, o zelo, a eficcia e a conscincia dos princpios
ticos so os valores maiores que orientam a relao da
Petrobras com seus empregados, clientes, concorrentes,
parceiros, fornecedores, acionistas, Governo e demais
segmentos da sociedade.
A atuao da Companhia busca atingir nveis crescentes
de competitividade e lucratividade, sem descuidar da
busca do bem comum, que traduzido pela valorizao
de seus empregados enquanto seres humanos, pelo
respeito ao meio ambiente, pela observncia s normas
de segurana e por sua contribuio ao desenvolvimento
nacional.
As informaes veiculadas interna ou externamente pela
Companhia devem ser verdadeiras, visando a uma
relao de respeito e transparncia com seus
empregados e a sociedade.
A Petrobras considera que a vida particular dos
empregados um assunto pessoal, desde que as
atividades deles no prejudiquem a imagem ou os
interesses da Companhia.
Na Petrobras, as decises so pautadas no resultado do
julgamento, considerando a justia, legalidade,
competncia e honestidade.
Você também pode gostar
- Projeto mecânico de vasos de pressão: princípios, fundamentos e filosofia do ASMENo EverandProjeto mecânico de vasos de pressão: princípios, fundamentos e filosofia do ASMEAinda não há avaliações
- Processos Industriais: Unidade de Extração SupercríticaNo EverandProcessos Industriais: Unidade de Extração SupercríticaNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (3)
- Inspeção de integridade de dutos: análise de sistema de medição do PIG PalitoNo EverandInspeção de integridade de dutos: análise de sistema de medição do PIG PalitoAinda não há avaliações
- Transporte dutoviário: impactos ambientais e boas práticas de mitigaçãoNo EverandTransporte dutoviário: impactos ambientais e boas práticas de mitigaçãoAinda não há avaliações
- Reatores Químicos em Leito Fluidizado: modelagem e simulaçãoNo EverandReatores Químicos em Leito Fluidizado: modelagem e simulaçãoAinda não há avaliações
- O Ciclo Total de Vida das Instalações em Atmosferas Explosivas: The total life cycle of installations in explosive atmospheresNo EverandO Ciclo Total de Vida das Instalações em Atmosferas Explosivas: The total life cycle of installations in explosive atmospheresNota: 3 de 5 estrelas3/5 (2)
- Fundamentos e aplicações da psicrometriaNo EverandFundamentos e aplicações da psicrometriaAinda não há avaliações
- Processos de Refino - Petrobr - SDocumento76 páginasProcessos de Refino - Petrobr - Sanacarine100% (3)
- Biodiesel no brasil: análise de custo-benefícioNo EverandBiodiesel no brasil: análise de custo-benefícioAinda não há avaliações
- Tratamento de Lodos de Estações de Tratamento de ÁguaNo EverandTratamento de Lodos de Estações de Tratamento de ÁguaAinda não há avaliações
- Livro Digital o Poder Do Suco Verde Natural VibeDocumento43 páginasLivro Digital o Poder Do Suco Verde Natural VibeMarcelo Figueira de OliveiraAinda não há avaliações
- Exercícios Sobre PERT-CPMDocumento7 páginasExercícios Sobre PERT-CPMalmeida73710% (3)
- Equipamentos Dinamicos Parte 1 PDFDocumento22 páginasEquipamentos Dinamicos Parte 1 PDFIsaacAinda não há avaliações
- Triagem NRS-2002Documento2 páginasTriagem NRS-2002Deisiane Silva da Costa100% (1)
- Apostilas Petrobras - Sistemas Térmicos e de Ar ComprimidoDocumento48 páginasApostilas Petrobras - Sistemas Térmicos e de Ar ComprimidoHelbran Batista BrandaoAinda não há avaliações
- Transferência e EstocagemDocumento38 páginasTransferência e EstocagemManoel NetoAinda não há avaliações
- Quimica Aplicada - PETROBRASDocumento104 páginasQuimica Aplicada - PETROBRASMateus Guimarães100% (1)
- Instrumentacao BasicaDocumento98 páginasInstrumentacao BasicaEduardo BandeiraAinda não há avaliações
- Kathy GallaguerDocumento101 páginasKathy Gallagueralmeida7371Ainda não há avaliações
- Operações unitárias em sistemas particulados e fluidomecânicos e outros trabalhosNo EverandOperações unitárias em sistemas particulados e fluidomecânicos e outros trabalhosAinda não há avaliações
- Apostila Petrobras - Aspectos AmbientaisDocumento46 páginasApostila Petrobras - Aspectos Ambientaisademargcjunior100% (1)
- A Utilização De Material Lignocelulósico Na Produção De BioetanolNo EverandA Utilização De Material Lignocelulósico Na Produção De BioetanolAinda não há avaliações
- EsteatoseDocumento19 páginasEsteatoseJamila Cury-RadAinda não há avaliações
- Apostila Operador de Sonda de PerfuraçãoDocumento36 páginasApostila Operador de Sonda de PerfuraçãoPaula RodriguesAinda não há avaliações
- Higiene IndustrialDocumento38 páginasHigiene IndustrialAilton Soares da Silva100% (1)
- 10 - Doenças Auto ImunesDocumento63 páginas10 - Doenças Auto ImunesDam LaignierAinda não há avaliações
- Apostila Sistema de Aguas - PetrobrasDocumento36 páginasApostila Sistema de Aguas - PetrobrasKleyton RenatoAinda não há avaliações
- Dinamicas Pre NatalDocumento44 páginasDinamicas Pre Natalbibiasilva100% (2)
- Desafios da Distribuição de CombustíveisNo EverandDesafios da Distribuição de CombustíveisAinda não há avaliações
- O Regime de Informação: Um Olhar sobre o Marco Regulatório da Indústria de Petróleo e Gás Natural no BrasilNo EverandO Regime de Informação: Um Olhar sobre o Marco Regulatório da Indústria de Petróleo e Gás Natural no BrasilNota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)
- FMUSP 2017 Acesso Direto Versao-BrancaDocumento48 páginasFMUSP 2017 Acesso Direto Versao-BrancaGabrielly Souza100% (2)
- Modelagem e Simulação de Processos Dinâmicos Aplicados às Engenharias Química, de Bioprocessos, Elétrica, Mecânica, de Controle, Aeroespacial e Fluidodinâmica ComputacionalNo EverandModelagem e Simulação de Processos Dinâmicos Aplicados às Engenharias Química, de Bioprocessos, Elétrica, Mecânica, de Controle, Aeroespacial e Fluidodinâmica ComputacionalAinda não há avaliações
- PPRA - Posto de GasolinaDocumento99 páginasPPRA - Posto de GasolinaSidney Leone100% (2)
- Apostilas Petrobras - Seguranca IndustrialDocumento70 páginasApostilas Petrobras - Seguranca IndustrialRossini terraAinda não há avaliações
- Lavagem AutomotivaDocumento52 páginasLavagem AutomotivaLeonardo MouraAinda não há avaliações
- Modelo de Apr - OficinaDocumento1 páginaModelo de Apr - OficinaVitor HugoAinda não há avaliações
- Manual de Segurança e Boas Práticas de LaboratórioDocumento68 páginasManual de Segurança e Boas Práticas de Laboratórioandre_7_souza501Ainda não há avaliações
- Tahuata - Fundamentos GrifadoDocumento373 páginasTahuata - Fundamentos GrifadoCássia BarrosAinda não há avaliações
- Substâncias húmicas aquáticas: Interações com espécies metálicasNo EverandSubstâncias húmicas aquáticas: Interações com espécies metálicasAinda não há avaliações
- Prova Tecnico RadiologiaDocumento7 páginasProva Tecnico RadiologiaAmauri_Skrutni_8092Ainda não há avaliações
- A Confiabilidade Prática Na Administração Da EngenhariaNo EverandA Confiabilidade Prática Na Administração Da EngenhariaAinda não há avaliações
- Saúde, Segurança Do Trabalho E Meio Ambiente: Aperfeiçoamento ProfissionalDocumento95 páginasSaúde, Segurança Do Trabalho E Meio Ambiente: Aperfeiçoamento ProfissionalIsaelGenuinodeMedeirosAinda não há avaliações
- TAUHATA Radioprotecao e Dosimetria - Fundamentos - Ed. 2014Documento372 páginasTAUHATA Radioprotecao e Dosimetria - Fundamentos - Ed. 2014Flávio Augusto Soares100% (2)
- Aula EndometrioseDocumento28 páginasAula EndometrioseLeandro PiresAinda não há avaliações
- Programa de Formação Sobre Higiene e Segurança Alimentar para RestaurantesDocumento138 páginasPrograma de Formação Sobre Higiene e Segurança Alimentar para Restaurantessmantilla100% (1)
- Implantação Da NR 33 PDFDocumento61 páginasImplantação Da NR 33 PDFRogério Torres TorresAinda não há avaliações
- Ficha Atendimento Individual - E-SUSDocumento2 páginasFicha Atendimento Individual - E-SUSEmerMotta75% (4)
- Aula 01 - Automação e ControleDocumento39 páginasAula 01 - Automação e Controlealmeida7371100% (1)
- Espaco Confinado Estudo Sobre Riscos Inerentes Na Industria Do Petroleo - Antonio Carlos Peixoto FilhoDocumento58 páginasEspaco Confinado Estudo Sobre Riscos Inerentes Na Industria Do Petroleo - Antonio Carlos Peixoto FilhoThamirisAgmAinda não há avaliações
- Biossegurança e Boas Práticas Laboratoriais em Saúde - ATUALIZADADocumento37 páginasBiossegurança e Boas Práticas Laboratoriais em Saúde - ATUALIZADAbiobach2011.1Ainda não há avaliações
- Riscos Ocupacionais em TopografiaDocumento50 páginasRiscos Ocupacionais em TopografiaMarllonDiluAinda não há avaliações
- Apostila Cipa 2018Documento97 páginasApostila Cipa 2018Aline Silva100% (2)
- Manual Tecnico Do Formador Higiene e Seguranca Do TrabalhoDocumento383 páginasManual Tecnico Do Formador Higiene e Seguranca Do Trabalhocaya1172100% (2)
- 2-Avaliacao Riscos - RestauracaoDocumento115 páginas2-Avaliacao Riscos - RestauracaoBrigida RodriguesAinda não há avaliações
- Agentes de RiscoDocumento46 páginasAgentes de RiscoHeverton MassuokaAinda não há avaliações
- Biossegurança EM LABORATORIODocumento49 páginasBiossegurança EM LABORATORIOAlexandre CasarolliAinda não há avaliações
- Slides ATDocumento112 páginasSlides ATFelipe AlvesAinda não há avaliações
- MANUAL DE BIOSSEGURANÇA QUIMICA AtualDocumento47 páginasMANUAL DE BIOSSEGURANÇA QUIMICA AtualJamanaAinda não há avaliações
- Engemharia e AmbienteDocumento36 páginasEngemharia e AmbienteKalled O Chamado ZangadoAinda não há avaliações
- Radiologia Industrial - CópiaDocumento11 páginasRadiologia Industrial - CópiaMaxwell Ribeiro Santos67% (3)
- AP230Documento249 páginasAP230Marcelo Gil SimõesAinda não há avaliações
- RivaldoDocumento30 páginasRivaldoRivaldo Da Silva RVAinda não há avaliações
- Unidades Médicas e Laboratóriais - Guia de Referência BIOSSEGURANÇA - CNCRDocumento75 páginasUnidades Médicas e Laboratóriais - Guia de Referência BIOSSEGURANÇA - CNCRONICLEIDE DA SILVA SANTOSAinda não há avaliações
- Riscos Ocupacionais em Trabalhadores de Banco de Sangue PDFDocumento61 páginasRiscos Ocupacionais em Trabalhadores de Banco de Sangue PDFDenise DeniseAinda não há avaliações
- Regras de Higiene e Segurança Do Laboratório, Normas e Riscos No LaboratórioDocumento27 páginasRegras de Higiene e Segurança Do Laboratório, Normas e Riscos No LaboratórioJoel SolomoneAinda não há avaliações
- Manual Central Cat-48 v05Documento30 páginasManual Central Cat-48 v05almeida737150% (4)
- Guia COMUNIC EVL Instalacao 22 10 08Documento14 páginasGuia COMUNIC EVL Instalacao 22 10 08inetpointAinda não há avaliações
- Lobby 200i e 640iDocumento118 páginasLobby 200i e 640ialmeida7371Ainda não há avaliações
- Historic On A PetrobrasDocumento5 páginasHistoric On A Petrobrasalmeida7371Ainda não há avaliações
- Acidente Reduc 1972Documento11 páginasAcidente Reduc 1972almeida7371Ainda não há avaliações
- Manual Cp24 Light 01 12 Site-1Documento28 páginasManual Cp24 Light 01 12 Site-1almeida7371Ainda não há avaliações
- Auto Macao Dio CelioDocumento357 páginasAuto Macao Dio Celioceicinha_jp_864749Ainda não há avaliações
- 01 Instrumentacao IndDocumento35 páginas01 Instrumentacao Indalmeida7371Ainda não há avaliações
- 12 Plataformas MainierDocumento8 páginas12 Plataformas Mainieralmeida7371Ainda não há avaliações
- Curso OsciloscopioDocumento72 páginasCurso OsciloscopioLeonardo NóbregaAinda não há avaliações
- Manual Aquecedor SolarDocumento44 páginasManual Aquecedor SolarbrunofogAinda não há avaliações
- HEMATO UNIFESP - Compressed PDFDocumento603 páginasHEMATO UNIFESP - Compressed PDFJorgeAinda não há avaliações
- Carcinoma Basocelular - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento1 páginaCarcinoma Basocelular - Wikipédia, A Enciclopédia LivreVivi BoterAinda não há avaliações
- Radioterapia PDFDocumento195 páginasRadioterapia PDFJoao Luis WagnerAinda não há avaliações
- Bs 4637Documento10 páginasBs 4637Gustavo FrutuosoAinda não há avaliações
- GastrectomiaDocumento26 páginasGastrectomiaBárbara CunhaAinda não há avaliações
- Livro Ana Halprin PDFDocumento26 páginasLivro Ana Halprin PDFRenato Frossard CardosoAinda não há avaliações
- 03 - Lúpus Eritematoso SistêmicoDocumento7 páginas03 - Lúpus Eritematoso SistêmicoEduardo AraújoAinda não há avaliações
- Propedêutica Imagenológica Do Sistema Genital Feminino 2Documento48 páginasPropedêutica Imagenológica Do Sistema Genital Feminino 2Turma XIII Medunit100% (1)
- Diretrizes para A Vigilância Do Câncer Relacionado Ao Trabalho.Documento192 páginasDiretrizes para A Vigilância Do Câncer Relacionado Ao Trabalho.Claudemir MazucheliAinda não há avaliações
- Bebidas e Cigarros Na UmbandaDocumento2 páginasBebidas e Cigarros Na UmbandajuandsantAinda não há avaliações
- Antropologia Médica e APS Cecil H HelmanDocumento17 páginasAntropologia Médica e APS Cecil H HelmanRodrycksAinda não há avaliações
- Tuberculose AcompanhamentoDocumento1 páginaTuberculose AcompanhamentoMatheus AzevedoAinda não há avaliações
- 4 - Leiomiomas e Sarcomas UterinosDocumento2 páginas4 - Leiomiomas e Sarcomas Uterinos9vvzhn8krvAinda não há avaliações
- Histotecnologia IDocumento84 páginasHistotecnologia IMariaAinda não há avaliações
- Apr RebaixamentoDocumento1 páginaApr RebaixamentoSuzana PenicheAinda não há avaliações
- Disfagia e OdinofagiaDocumento3 páginasDisfagia e OdinofagiaTaise TavaresAinda não há avaliações
- ApitoxinaDocumento20 páginasApitoxinaguedesseccoAinda não há avaliações
- Bula NovalginaDocumento14 páginasBula NovalginaJefferson SilvaAinda não há avaliações
- AntineoplásicosDocumento27 páginasAntineoplásicosandrea6kgAinda não há avaliações
- 09 Medicina Tradicional Do Povo Tremembé - FINALDocumento81 páginas09 Medicina Tradicional Do Povo Tremembé - FINALMaria MAinda não há avaliações