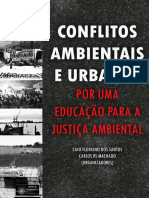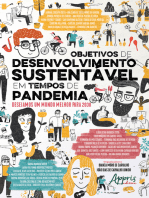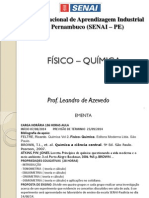Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Almanaque Brasil Socioambiental 2008
Almanaque Brasil Socioambiental 2008
Enviado por
Cauan BragaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Almanaque Brasil Socioambiental 2008
Almanaque Brasil Socioambiental 2008
Enviado por
Cauan BragaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ALMANAQUE
BRASIL
SOCIOAMBIENTAL
SOCIOAMBIENTAL SE ESCREVE JUNTO.
w
w
w
.
s
o
c
i
o
a
m
b
i
e
n
t
a
l
.
o
r
g
EQUILBRIO SOCIOAMBIENTAL. SE MEXER, todo MUNDO V A I PERDER.
ISA BANDEIRA320x230.indd 1 7/27/07 5:54:45 AM
SOCIOAMBIENTAL SE ESCREVE JUNTO.
w
w
w
.
s
o
c
i
o
a
m
b
i
e
n
t
a
l
.
o
r
g
EQUILBRIO SOCIOAMBIENTAL. SE MEXER, todo MUNDO V A I PERDER.
ISA BANDEIRA320x230.indd 1 7/27/07 5:54:45 AM
O Instituto Socioambiental (ISA) uma associao sem fns lucrativos, qualifcada como Organizao da Sociedade Civil
de Interesse Pblico (Oscip), fundada em 22 de abril de 1994, por pessoas com formao e experincia marcante na luta
por direitos sociais e ambientais. Tem como objetivo defender bens e direitos sociais, coletivos e difusos, relativos ao meio
ambiente, ao patrimnio cultural, aos direitos humanos e dos povos. O ISA produz estudos e pesquisas, implanta projetos
e programas que promovam a sustentabilidade socioambiental, valorizando a diversidade cultural e biolgica do Pas.
Para saber mais sobre o ISA consulte
www.socioambiental.org
Conselho Diretor
Neide Esterci (presidente), Srgio Mauro Santos Filho (vice-presidente),
Adriana Ramos, Beto Ricardo, Carlos Frederico Mars
Secretrio executivo
Beto Ricardo
Secretrio executivo adjunto
Enrique Svirsky
Coordenadores de Programas e de Atividades Permanentes
Adriana Ramos, Andr Villas-Bas, Antenor Bispo de Morais, Beto Ricardo, Ccero Cardoso Augusto, Fany Ricardo,
Guilherme Tadaci Ake, Mrcio Santilli, Maria Ins Zanchetta, Marussia Whately, Nilto Tatto, Raul Silva Telles do Valle
Apoio institucional
Icco (Organizao Intereclesistica para Cooperao ao Desenvolvimento)
NCA (Ajuda da Igreja da Noruega)
So Paulo
Av. Higienpolis, 901
01238-001
So Paulo SP Brasil
tel: (11) 3515-8900
fax: (11) 3515-8904
isa@socioambiental.org
Braslia
SCLN 210, bloco C, sala 112
70862-530
Braslia DF Brasil
tel: (61) 3035-5114
fax: (61) 3035-5121
isadf@socioambiental.org
Canarana
Rua Redentora, 362, Centro,
78640-000
Canarana MT Brasil
tel: (66) 3478-3491
isaxingu@socioambiental.org
Eldorado
Residencial Jardim Figueira, 55
Centro, Eldorado SP Brasil
11960-000
tel: (13) 3871-1697
isaribeira@socioambiental.org
Manaus
Rua Costa Azevedo, 272,
1 andar, Largo do Teatro,
Centro, 69010-230,
Manaus AM Brasil
tel/fax: (92) 3631-1244/3633-5502
isamao@socioambiental.org
So Gabriel da Cachoeira
Rua Projetada, 70, Centro,
Caixa Postal 21, 69750-000
S. G. da Cachoeira AM Brasil
tel/fax: (97) 3471-1156
isarn@socioambiental.org
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL (2008)
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL
EDITORES GERAIS: Beto Ricardo e Maura Campanili
TEXTOS
EDITORA: Maura Campanili
EDITORA-ASSISTENTE: Livia Chede Almendary
NDICE REMISSIVO: ngela Galvo
DIRETRIO: Leila Maria Monteiro da Silva e Geni Aparecida Tofoli
IMAGENS
EDITOR: Beto Ricardo
ASSISTENTE: Claudio Aparecido Tavares
MAPAS: Alicia Rolla; Alexandre Degan Perussi; Ana Carolina Rezende Rodrigues;
Cicero Cardoso Augusto; Carolina Born Tofoli; Renata Alves; Rosimeire Rurico Sac
ARTE
PROJETO GRFICO: Sylvia Monteiro
EDITORAO ELETRNICA: Ana Cristina Silveira e Vera Feitosa
PRODUO GRFICA: Marcia Signorini
PRODUO: Andr Troster; Adriana Figueiredo; Cristina Kahn; Enrique Svirsky (coordenao);
Fabio Massami Endo; Guilherme Tadaci Ake; Margareth Nishiyama; Moiss Pangoni
ADMINISTRAO E DISTRIBUIO: Carlos Alberto de Souza e Simone Pereira
COLABORADORES PARA O FECHAMENTO: Adriana Figueiredo; ngela Galvo; Arminda Jardim; Csar Pegoraro; Fany Ricardo;
Geni Aparecida Tofoli; Leila Maria Monteiro da Silva; Lilia Toledo Diniz; Luis Roberto de Paula; Maria Ins Zanchetta; Marussia Whately;
Oswaldo Braga de Souza; Paula Santoro; Pilar Cunha; Rita de Cssia Cordeiro Soares; Rogerio do Pateo
CAPA: Sylvia Monteiro
ISBN: 978-85-85994-45-7
So Paulo, outubro de 2007
O Almanaque Brasil Socioambiental 2008, segunda edio da publicao lanada em 2005, uma
contribuio do ISA, com apoio de uma extensa rede de colaboradores, refexo e ao debate sobre
o futuro da vida no Brasil e no mundo. A iniciativa adquire importncia renovada diante da conscincia
planetria cada vez mais aguda sobre os modelos insustentveis de produo e consumo.
A publicao traz um panorama dos ambientes brasileiros incluindo dez ensaios fotogrfcos autorais e
das grandes questes socioambientais contemporneas. Os temas so acompanhados de casos importan-
tes, de curiosidades, de referncias para quem quiser saber mais, de personagens e de dicas de como agir
e participar de campanhas e solues alternativas que possam conciliar desenvolvimento com valorizao
da diversidade socioambiental do Pas.
Os 85 verbetes, dispostos em 11 captulos temticos, foram escritos por 122 colaboradores, entre jornalistas,
ativistas e especialistas das mais diferentes reas. Faz parte da publicao um mapa-pster, que evidencia
a ao humana sobre o territrio brasileiro. A inteno atingir um pblico amplo, sobretudo estudantes e
professores dos ensinos fundamental e mdio. Por isso, optou-se por uma linguagem simples e concisa, sem
ser superfcial, e um projeto grfco dinmico, com muitas tabelas, mapas, grfcos e imagens.
No imaginrio das populaes urbanas em geral, homem e natureza so coisas distintas. A noo de que
ambos esto interligados umbilicalmente, de que um depende do outro, fundamenta a viso do universo
das populaes tradicionais (ndios, quilombolas, ribeirinhos etc.), como mostra o captulo DIVERSIDADE
SOCIOAMBIENTAL. Assim como os saberes desses grupos foram responsveis pela proteo e at a di-
versifcao dos ecossistemas, o desafo do Almanaque justamente apresentar o Brasil (e o mundo) com
uma viso crtica capaz de resgatar a inter-relao entre ambiente e sociedade.
S hoje a cincia ocidental comea a entender melhor como as foras que moldaram e condicionam a vida
no Planeta esto interligadas em uma cadeia que manteve-se estvel por milhares de anos. Mas que d
sinais de fragilidade diante da magnitude alcanada pela ao do homem. O aquecimento causado pela
APRESENTAO
industrializao em uma rea contribui para alteraes climticas at mesmo em regies distantes. Por
isso, esta publicao procura integrar, no captulo AMBIENTES, informaes sobre as vrias dimenses
que afetam a vida do Planeta, comeando pela formao do Universo, da Terra, at detalhar os ambientes
que marcam o Brasil.
Em 500 anos, por exemplo, destrumos mais de 90% da Mata Atlntica, abrigo dos mananciais de gua que
alimentam 60% da populao brasileira. Mas temos memria curta e, como revela o captulo FLORES-
TAS, vamos trilhando caminho parecido em relao ao Cerrado e Amaznia, a maior foresta tropical do
mundo, com aes ainda tmidas para reverter a situao.
Em MODELOS DE DESENVOLVIMENTO, o leitor saber como nosso padro de civilizao afeta o meio
ambiente e a qualidade de vida no Pas e como podemos mud-los. Em CIDADES, ter informaes para
entender porque nossas metrpoles cresceram tanto no sculo XX, sem que isso tenha signifcado mais
distribuio de renda, qualidade de vida e equilbrio ambiental.
A confrmao de que o homem responsvel por grande parte do aquecimento global vem estimulando
o debate sobre os efeitos da explorao desenfreada dos recursos naturais e da produo de energia sobre
os mecanismos regulatrios que sustentam a vida no Planeta. A implementao de polticas que conciliem
a mitigao e o enfrentamento das alteraes do clima, a readequao de nossas matrizes energticas e a
preservao de nossas fontes de gua apontam para o dilema de reorientarmos radicalmente os padres
de produo e consumo, como mostram os captulos MUDANA CLIMTICA, GUA e RECURSOS ENER-
GTICOS E MINERAIS.
A publicao trata tambm de outras questes que podem ajudar a entender os confitos sociais e ambien-
tais que o Pas vive hoje, como TERRAS e LEGISLAO SOCIOAMBIENTAL. Trazemos ainda dados sobre
FRUNS E CONFERNCIAS que vm debatendo esses confitos no Pas e no mundo.
Como todos esses processos so dinmicos, o Almanaque Brasil Socioambiental dever ser periodica-
mente atualizado. O ISA conta com as sugestes de todos os leitores para aprimor-lo.
DIVERSIDADE
SOCIOAMBIENTAL
A diversidade das formas de vida na Terra (e sabe-se l mais onde) consubstancial vida enquan-
to forma da matria. Essa diversidade o movimento mesmo da vida enquanto informao, tomada de
forma que interioriza a diferena as variaes de potencial existentes em um universo constitudo pela
distribuio heterognea de matria/energia para produzir mais diferena, isto , mais informao. A
vida, nesse sentido, uma exponenciao um redobramento ou multiplicao da diferena por si mes-
ma. Isso se aplica igualmente vida humana. A diversidade de modos de vida humanos uma diversidade
dos modos de nos relacionarmos com a vida em geral, e com as inumerveis formas singulares de vida que
ocupam (informam) todos os nichos possveis do mundo que conhecemos (e sabe-se l de quantos outros).
A diversidade humana, social ou cultural, uma manifestao da diversidade ambiental, ou natural a
ela que nos constitui como uma forma singular da vida, nosso modo prprio de interiorizar a diversidade
externa (ambiental) e assim reproduzi-la. Por isso a presente crise ambiental , para os humanos, uma
crise cultural, crise de diversidade, ameaa vida humana.
A crise se instala quando se perde de vista o carter relativo, reversvel e recursivo da distino en-
tre ambiente e sociedade. O poeta e pensador Paul Valry constatava sombrio, pouco depois da Primeira
Guerra Mundial, que ns, civilizaes [europias], sabemos agora que somos mortais. Neste comeo algo
crepuscular do presente sculo, passamos a saber que, alm de mortais, ns, civilizaes, somos mort-
feras, e mortferas no apenas para ns, mas para um nmero incalculvel de espcies vivas inclusive
para a nossa. Ns, humanos modernos, flhos das civilizaes mortais de Valry, parece que ainda no
desesquecemos que pertencemos vida, e no o contrrio. E olhem que j soubemos disso. Algumas civi-
lizaes sabem disso; muitas outras, algumas das quais matamos, sabiam disso. Mas hoje, comea a fcar
urgentemente claro at para ns mesmos que do supremo e urgente interesse da espcie humana
abandonar uma perspectiva antropocntrica. Se a exigncia parece paradoxal, porque ela o ; tal nossa
presente condio. Mas nem todo paradoxo implica uma impossibilidade; os rumos que nossa civilizao
tomou nada tm de necessrio, do ponto de vista da espcie humana. possvel mudar de rumo, ainda
que isso signifque est na hora de encararmos a chamada realidade mudar muito daquilo que muitos
considerariam como a essncia mesma da nossa civilizao. Nosso curioso modo de dizer ns, por exem-
plo, excluindo-nos dos outros, isto , do ambiente.
O que chamamos ambiente uma sociedade de sociedades, como o que chamamos sociedade um
ambiente de ambientes. O que ambiente para uma dada sociedade ser sociedade para um outro am-
biente, e assim por diante. Ecologia sociologia, e reciprocamente. Como dizia o grande socilogo Gabriel
Tarde, toda coisa uma sociedade, todo fenmeno um fato social. Toda diversidade ao mesmo tempo
um fato social e um fato ambiental; impossvel separ-los sem que no nos despenhemos no abismo assim
aberto, ao destruirmos nossas prprias condies de existncia.
A diversidade , portanto, um valor superior para a vida. A vida vive da diferena; toda vez que uma
diferena se anula, h morte. Existir diferir, continuava Tarde; a diversidade, no a unidade, que est
no corao das coisas. Dessa forma, a prpria idia de valor, o valor de todo valor, por assim dizer o
corao da realidade , que supe e afrma a diversidade.
verdade que a morte de uns a vida de outros e que, neste sentido, as diferenas que formam a con-
dio irredutvel do mundo jamais se anulam realmente, apenas mudam de lugar (o chamado princpio
de conservao da energia). Mas nem todo lugar igualmente bom para ns, humanos. Nem todo lugar
tem o mesmo valor. (Ecologia isso: avaliao do lugar). Diversidade socioambiental a condio de uma
vida rica, uma vida capaz de articular o maior nmero possvel de diferenas signifcativas. Vida, valor e
sentido, fnalmente, so os trs nomes, ou efeitos, da diferena.
Falar em diversidade socioambiental no fazer uma constatao, mas um chamado luta. No se
trata de celebrar ou lamentar uma diversidade passada, residualmente mantida ou irrecuperavelmente
perdida uma diferena diferenciada, esttica, sedimentada em identidades separadas e prontas para
consumo. Sabemos como a diversidade socioambiental, tomada como mera variedade no mundo, pode
ser usada para substituir as verdadeiras diferenas por diferenas factcias, por distines narcisistas que
repetem ao infnito a morna identidade dos consumidores, tanto mais parecidos entre si quanto mais di-
ferentes se imaginam.
Mas a bandeira da diversidade real aponta para o futuro, para uma diferena diferenciante, um devir
onde no apenas o plural (a variedade sob o comando de uma unidade superior), mas o mltiplo (a
variao complexa que no se deixa totalizar por uma transcendncia) que est em jogo. A diversidade
socioambiental o que se quer produzir, promover, favorecer. No uma questo de preservao, mas de
perseverana. No um problema de controle tecnolgico, mas de auto-determinao poltica.
um problema, em suma, de mudar de vida, porque em outro e muito mais grave sentido, vida, s
h uma. Mudar de vida mudar de modo de vida; mudar de sistema. O capitalismo um sistema pol-
tico-religioso cujo princpio consiste em tirar das pessoas o que elas tm e faz-las desejar o que no tm
sempre. Outro nome desse princpio desenvolvimento econmico. Estamos aqui em plena teologia
da falta e da queda, da insaciabilidade infnita do desejo humano perante os meios materiais fnitos de
satisfaz-los. A noo recente de desenvolvimento sustentvel , no fundo, apenas um modo de tornar
sustentvel a noo de desenvolvimento, a qual j deveria ter ido para a usina de reciclagem das idias.
Contra o desenvolvimento sustentvel, preciso fazer valer o conceito de sufcincia antropolgica. No se
trata de auto-sufcincia, visto que a vida diferena, relao com a alteridade, abertura para o exterior
em vista da interiorizao perptua, sempre inacabada, desse exterior (o fora nos mantm, somos o fora,
diferimos de ns mesmos a cada instante). Mas se trata sim de auto-determinao, de capacidade de
determinar para si mesmo, como projeto poltico, uma vida que seja boa o bastante.
O desenvolvimento sempre suposto ser uma necessidade antropolgica, exatamente porque ele su-
pe uma antropologia da necessidade: a infnitude subjetiva do homem seus desejos insaciveis em
insolvel contradio com a fnitude objetiva do ambiente a escassez dos recursos. Estamos no corao da
economia teolgica do Ocidente, como to bem mostrou Marshal Sahlins; na verdade, na origem de nossa
teologia econmica do desenvolvimento. Mas essa concepo econmico-teolgica da necessidade , em
todos os sentidos, desnecessria. O que precisamos de um conceito de sufcincia, no de necessidade.
Contra a teologia da necessidade, uma pragmtica da sufcincia. Contra a acelerao do crescimento, a
acelerao das transferncias de riqueza, ou circulao livre das diferenas; contra a teoria economicista do
desenvolvimento necessrio, a cosmo-pragmtica da ao sufciente. A sufcincia uma relao mais livre
que a necessidade. As condies sufcientes so maiores mais diversas que as condies necessrias.
Contra o mundo do tudo necessrio, nada sufciente, a favor de um mundo onde muito pouco neces-
srio, quase tudo sufciente. Quem sabe assim tenhamos um mundo a deixar para nossos flhos.
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO
Antroplogo do Museu Nacional (UFRJ), especial para
o Almanaque Brasil Socioambiental.
Devastamos mais da metade
de nosso Pas pensando
que era preciso deixar a natureza
para entrar na histria:
mas eis que esta ltima,
com sua costumeira predileo
pela ironia, exige-nos agora
como passaporte
justamente a natureza.
(de Eduardo Viveiros de Castro, antroplogo,
um dos motes da fundao do ISA em 1994)
www.socioambiental.org
APRESENTAO
DO GRUPO AES
Os padres vigentes de consumo, aliados capacidade de transformao por parte do homem, impuse-
ram um ritmo que os recursos naturais do Planeta tm sido utilizados em um padro no sustentvel. O
crescimento econmico , por excelncia, a principal via de gerao de emprego e distribuio de renda,
um propulsor da reduo das desigualdades sociais. No entanto, vem acompanhado por um pesado cus-
to ambiental. O futuro do Planeta depende do urgente restabelecimento do equilbrio entre crescimento
da economia, reduo das desigualdades sociais e preservao do meio ambiente. O Brasil apresenta-se
como candidato a uma grande nao desenvolvida, mas vem pagando uma conta alta, como evidenciam
as fotografas areas de nossas forestas e demais biomas ameaados.
O Grupo AES no Brasil tem enfrentado esse desafo investindo em programas de manejo de fora e manejo
pesqueiro, projetos de reciclagem, metas de reduo de emisses de gases poluentes e insumos diversos,
regularizao de ligaes eltricas, efcincia energtica e projetos de pesquisa e desenvolvimento ligados
ao meio ambiente. Essas aes esto descritas nos relatrios de sustentabilidade das geradoras e distri-
buidoras de energia eltrica do Grupo. J o conceito de desenvolvimento sustentvel est cada vez mais
em pauta na sociedade e tambm disseminado nas empresas do Grupo AES no Brasil. Acreditamos que
esse conhecimento, aliado a um conjunto de aes concretas realizadas por todos os nossos funcionrios,
poder provocar as mudanas necessrias para o equilbrio entre as necessidades imediatas de nossos p-
blicos de relacionamento funcionrios, meio ambiente, clientes, fornecedores, comunidades, governo,
acionistas, entre outros , sem comprometer as necessidades das futuras geraes.
Por essa razo, as empresas do Grupo AES no Brasil renovam sua parceria com o Instituto Socioambiental
(ISA) para viabilizar a reedio atualizada do Almanaque Brasil Socioambiental e, assim, disseminar esse
conhecimento e estimular a construo de um relacionamento mais saudvel com o nosso Planeta.
BRITALDO PEDROSA SOARES
Diretor Presidente do Grupo AES no Brasil
Esta a segunda edio do Almanaque Brasil Socioambiental, revista, atualizada e ampliada. A publicao contou com a
participao de especialistas das mais diversas reas, que colaboraram voluntariamente como autores ou consultores dos
textos e das imagens. O ISA agradece a tod@s.
AGRADECIMENTOS
AUTORES DE TEXTOS Adalberto Verssimo; Ademar
Romeiro; Adriana Ramos; Adriano Paglia; Alcides Faria;
Alec Zeinad; Alessandra Nava; Amalia Safatle; Amncio C.
S. Friaa; Ana Lise Thurler; Ana Lucia Ancona; Ana Valria
Arajo; Andr Giacini de Freitas; Andr Lima; Andr Rocha
Ferretti; Andr Trigueiro; Angel Perez; Antonio Carlos
Robert Moraes; Antonio Donato Nobre; Arnaldo Carneiro
Filho; Augusto Auler; Bernt Rydland Olsen; Beto Ricardo;
Bruce Albert; Carlos Frederico Mars de Souza Filho;
Carolina Rossini; Clvis Borges; Cristiane Fontes; Cristina
Velasquez; Danielle Celentano; Eduardo Ehlers; Eduardo
Viveiros de Castro; Elaine Pinto; Elza Berqu; Emerson
Galvani; Evaristo Eduardo de Miranda; Fany Ricardo; Fer-
nando Gabeira; Fernando Mathias Baptista; Flavia Pardini;
Geraldo Mosimann da Silva; Gil Anderi da Silva; Gilda
Collet Bruna; Gina Rizpah Besen; Giorgio Brighetti (in me-
morian); Gustavo Pacheco; Helena Ribeiro; Helio Mattar;
Jacques Demajorovic; Jos Augusto Pdua; Jos Eli da
Veiga; Jos Galizia Tundisi; Jos Heder Benatti; Juliana
Santilli; Kathia Vasconcellos Monteiro; Ladislau Dowbor;
Laure Emperaire; Leonardo Bof; Liana John; Lisa Gunn;
Livia Chede Almendary; Lcio Flvio Pinto; Luis Enrique
Snchez; Luis Henrique Marton Marcondes Silva; Luis
Piva; Marcelo Caus Asfora; Marcelo Leite; Mrcia Hirota;
Mrcio Santilli; Marcus Polette; Maria de Azevedo Bran-
do; Maringela Graciano; Marilena Lazzarini; Marina
Antogiovanni da Fonseca; Marina Kahn; Mrio Csar
Mantovani; Marussia Whately; Mary Alegretti; Maura
Campanili; Mauro Almeida; Miriam Prochnow; Moyss
Simantob; Natalia Hernndez; Natalie Unterstell; Neide
Esterci; Nely Blauth; Nide Guidon; Nilo DAvila; Nurit
Bensusan; Paul Singer; Paula Arantes; Paulo Miguez;
Paulo Moutinho; Pedro Ivo de Souza Batista; Pedro Ro-
berto Jacobi; Pedro Novaes; Rachel Trajber; Rafaela Nico-
la; Raul Silva Telles do Valle; Renato Cymbalista; Ricardo
Arnt; Ricardo Miranda de Britez; Ricardo Salgado; Ro-
berto Kishinami; Roberto Smeraldi; Rosa Artigas; Rosely
Alvim Sanches; Rubens Onofre Nodari; Srgio Cortizo;
Srgio Haddad; Sergio Leito; Sezifredo Paz; Slvia Franz
Marcuzzo; Soraia Silva de Mello; Suzana M. Padua; Teresa
Urban; Vanderley M. John; Violta Kubrusly;
Wagner Costa Ribeiro.
CONSULTORES DE TEXTOS Aldo da Cunha Rebouas;
Ana Lucia Ancona; Isabella Clerice de Maria; Marcelo Glei-
ser; Neide Esterci; Violta Kubrusly, Washington Novaes.
ILUSTRADORES Carlos Matuck (personagens) e Rubens
Matuck (aquarelas Cerrado e Um P de Qu?).
AUTORES DE ENSAIOS FOTOGRFICOS Araqum Al-
cn- tara (Brasil); Fernando Soria (Amrica Latina); Geyson
Magno (Caatinga); Iat Cannabrava (Cidades); Ma rio Frie-
dlnder (Pantanal); Paulo Backes (Pampa); Pedro Matinelli
(Amaznia); Roberto Linsker (Zona Costeira); Sebastio
Salgado (Planeta Terra); Zig Koch (Mata Atlntica).
FOTGRAFOS Adenor Gondim; Alec Krse Zeinad; Ana
Lcia Pessoa Gonalves; Andr Ricardo; Andr Villas-Bas;
Antonio Bragana; Araqum Alcntara; Beto Ricardo; Car-
los Cazalis; Claudia Andujar; Claudio Tavares; Daniel Beltra;
Eduardo Viveiros de Castro; Fbio Del Re; Felipe Leal; Gey-
son Magno; Iat Cannabrava; Joo Paulo Capobianco; Jr-
gen Braastad; Jos Carlos Ribeiro Ferreira; Lalo de Almeida;
Laure Emperaire; Leopoldo Silva; Livia Chede Almendary;
Mar cus Pollete; Marcus Vincius Chamon Schmidt; Mario
Friedlnder; Mauro Almeida; Michael Pellanders; Miriam
Prochnow; Mnica Monteiro Schroeder; Orlando Brito; Otto
Hassler; Paulo Backes; Paulo Jares; Pedro Martinelli; Pio
Fi guei roa; Raul Silva Telles do Valle; Roberto Linsker; Rosa
Gauditano; Rosely Alvim Sanches; Rui Faquini; Sebastio
Salgado; Sheila Oliveira; Simone Athayde; Snia Lorenz;
Vincent Carelli; Wigold Schafer; Zig Koch.
APOIO Programa Um P de Qu?, realizao Pindorama
Filmes e Canal Futura; Folhapress.
AGRADECIMENTOS Alice Lutz (Pindorama Filmes); Ana
Ligia Scachetti (Fundao SOS Mata Atlntica); Ana Lucia
Mariz de Oliveira; Camila Melo (Instituto Akatu); Carlo
Paixo; Cesar Brustolin (Prefeitura Municipal de Curitiba);
Daiani Mistieri (Instituto Ethos); Daniela Soares (Greenpe-
ace); Dominique Tilkin Gallois; Dora Negreiros (Instituto
Baa de Guanabara); Eduardo Neves (USP); Estevo Ciavat-
ta (Pindorama Filmes); Fernanda Pereira (Iphan); Gabriela
Juns (Greenpeace); Geraldo Andrello (ISA); Igor Felippe
Santos (MST); Inara Vieira (Iphan); Jan Thomas Odegard
(Amigos da Terra); Leo Serva; Mariana Bassani (Terra
Virgem); Marina Verne (Iphan); Nuno Godolphim (Pindo-
rama Filmes); Patrcia Rocha (ATB Comunicaes); Priscila
Mantelatto (Imafora); Renina Valejo (Critas Brasileira);
Ricardo Salgado Rocha (Instituto Terra); Susana Horta
Camargo; Tatiana Moliterno (F/Nazca).
Pg. 24 Pg. 195
Pg. 283 Pg. 186
Pg. 336
Pg. 170
Pg. 48
Pg. 107
Pg. 230
Pg. 47
Pg. 121
Pg. 276
SUMRIO
Como usar o Almanaque 21
Ambientes 23
Universo 24
Planeta Terra 33
Amrica Latina 48
Brasil 61
Amaznia 83
Caatinga 107
Cerrado 128
Mata Atlntica 144
Pampa 163
Pantanal 177
Zona Costeira 195
Diversidade Socioambiental 215
Populao Brasileira 216
Populaes tradicionais 223
Povos Indgenas 226
Quilombolas 234
Direito Socioambiental 236
Processos da Diversidade Biolgica 241
Fauna 243
Flora 251
Recursos Genticos 254
Biossegurana 258
reas Protegidas 261
Bens Culturais 270
Florestas 273
Poltica Florestal 274
Desmatamento 276
Queimadas 283
Manejo 285
Recuperao Florestal 288
gua 291
Disponibilidade e Distribuio 292
Confitos de Uso 298
Saneamento Bsico 303
Barragens 311
Esporte e Lazer 313
Hidrovias 314
Indstria 315
Irrigao 317
Pesca 319
Terras 323
Ordenamento Territorial 324
Fronteiras 327
Reforma Agrria 329
Solo 333
Transporte 336
Recursos Energticos
e Minerais 339
Energia 340
Matriz Energtica 344
Eletricidade 346
Combustveis 348
Energia Nuclear 351
Minerao 352
Mudana Climtica 357
Mudana Climtica Global 358
O Brasil e a Mudana Climtica 365
Desafo do Sculo 373
Cidades 379
Urbanizao 380
Arquitetura 391
Enchentes 395
Habitao 396
Lixo 398
Poluio Urbana 405
Transporte 409
Cidades Sustentveis 410
Modelos de
Desenvolvimento 413
Agricultura Sustentvel 414
Cincia e Tecnologia 423
Comrcio Justo 425
Consumo Sustentvel 428
Contabilidade Ambiental 431
Cooperao Internacional 432
Crescimento Econmico 433
Desenvolvimento Humano 435
Desenvolvimento Sustentvel 439
Economia Ecolgica 441
Economia Solidria 443
Educao 444
Indicadores Socioambientais 446
Poltica Ambiental 448
Reforma Tributria 451
Responsabilidade Socioambiental
Corporativa 452
Riscos e Acidentes Ambientais 456
Servios Ambientais 459
Socioambientalismo 461
Turismo Sustentvel 469
Legislao Socioambiental 475
Acordos Internacionais 476
Legislao Brasileira 481
Responsabilidade por Danos
Socioambientais 488
Fruns e Conferncias 493
Conferncia Nacional do Meio Ambiente 494
Conferncias Internacionais 496
Fruns Social e Econmico 498
Calendrio 499
Campanhas 501
Diretrio 517
Glossrio & Siglrio 533
ndice Remissivo 542
Pg. 452 Pg. 358
Pg. 402 Pg. 384
Pg. 391
Pg. 367
Pg. 505
Pg. 386
Pg. 376
Pg. 419
Pg. 469
Pg. 410
Sociodiversidade e biodiversidade defnem
o Brasil em um mundo em acelerado
processo de globalizao.
Mas o desenvolvimento predatrio
e socialmente excludente dilapida
o patrimnio, corri a identidade
e agrava a crise brasileira.
O futuro pede como passaporte
uma nova sntese:
a sustentabilidade socioambiental.
(um dos motes da criao do ISA em 1994)
www.socioambiental.org
COMO USAR O
ALMANAQUE
Este Almanaque est dividido em captulos temticos, com verbetes relacionados.
Todos os textos foram escritos ou validados por profssionais ligados aos temas abordados
Entenda os verbetes
Todos os verbetes so acompanhados das sees
Saiba Mais (com indicaes bibliogrfcas ou sites sobre
o tema) e Veja Tambm (indicando outros verbetes ou
sees do Almanaque relacionadas ao tema).
As indicaes entre parnteses no meio do texto
indicam outros verbetes ou sees do Almanaque
relacionados ao trecho especfco em que aparecem.
As palavras escritas em azul fazem parte
do Glossrio & Siglrio (pg. 533).
ZOOM Esta seo, presente em vrios verbetes, traz
um recorte ou um caso emblemtico relacionado ao
tema abordado. O ZOOM vermelho quando um caso
negativo, amarelo quando uma situao que precisa
de ateno e verde quando um exemplo positivo.
Licena
Para democratizar ainda mais a difuso dos contedos publicados no Almanaque Brasil Socioambiental, os tex-
tos da publicao esto sob a licena Creative Commons (www.creativecommons.org.br), que fexibiliza a questo da
propriedade intelectual. Na prtica, essa licena libera os textos para reproduo e utilizao em obras derivadas sem
autorizao prvia do editor (no caso o ISA), mas com alguns critrios: apenas em casos em que o fm no seja comer-
cial, citada a fonte original (inclusive o autor do texto) e, no caso de obras derivadas, a obrigatoriedade de licenci-las
tambm em Creative Commons.
Essa licena no vale para fotos e ilustraes, que permanecem em copyright .
Voc pode:
Copiar e distribuir os textos do Almanaque Brasil Socioambiental.
Criar obras derivadas a partir dos textos do Almanaque Brasil Socioambiental.
Sob as seguintes condies:
Atribuio: voc deve dar crdito ao autor original, da forma especifcada no crdito do texto.
Uso No-Comercial: voc no pode utilizar esta obra com fnalidades comerciais.
Compartilhamento pela mesma Licena: se voc alterar, transformar ou criar outra obra com
base nesta, voc somente poder distribuir a obra resultante sob uma licena idntica a esta.
Procura por assunto
Os temas abordados neste Almanaque podem ser
encontrados no Sumrio (pg. 18), nas aberturas de
captulos ou no ndice Remissivo (pg. 542).
O Diretrio (pg. 517) traz uma lista de organizaes
relacionadas temtica socioambiental, com endereos
postais e eletrnicos.
AMBIENTES
A integrao entre os diferentes nveis do Universo faz com que nenhum de seus
elementos seja independente de todo o resto, como a Terra, que tambm um
sistema composto pelos elos de uma mesma cadeia. Desde os ecossistemas mais
simples, passando por biomas, chegando a estruturas climticas regionais e globais,
infuenciadas, por sua vez, por foras csmicas. O aquecimento causado pela indus-
trializao ou o desmatamento em uma rea do Planeta contribui para alteraes
no clima at mesmo em regies distantes. A conscincia desses fatos avanou nos
ltimos anos, como indicam algumas polticas pblicas ambientais nascidas da
presso da sociedade em todo o mundo. Por outro lado, a regra geral continua sendo
a dos modelos insustentveis de desenvolvimento que desconsideram a fnitude
dos recursos naturais. O Almanaque Brasil Socioambiental apresenta sob o tema
Ambientes informaes sobre as vrias dimenses que afetam a vida do Planeta,
desde a formao do Universo, da Terra, at detalhar os biomas presentes no terri-
trio brasileiro (Amaznia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlntica, Pampa, Pantanal e
Zona Costeira).
Universo, pg. 24
Planeta Terra, pg. 33
Amrica Latina, pg. 48
Brasil, pg. 61
Amaznia, pg. 83
Caatinga, pg. 107
Cerrado, pg. 128
Mata Atlntica, pg. 144
Pampa, pg. 163
Pantanal, pg. 177
Zona Costeira, pg. 195
U
N
I
V
E
R
S
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 24
AMBIENTES
Sabemos muito pouco sobre o que est alm do nosso
Planeta, que teria apenas o tamanho de um gro de pimenta
se, proporcionalmente, o Sol fosse comparado a uma bola
de futebol. Assim, a origem do Universo, seu tamanho, os
corpos celestes e, principalmente, a possibilidade de vida em
outros planetas - como a conhecemos na Terra ou de outras
formas - sempre despertaram a curiosidade do homem,
que, desde os tempos pr-histricos, em qualquer cultura,
elaborou teorias e mitos sobre ele.
A cincia de hoje explica vrios fenmenos, como, por
exemplo, como as estrelas nascem ou como o movimento
dos planetas no nosso Sistema Solar, mas ainda perma-
necem muitas lacunas. Apesar de mito e cincia serem
UNIVERSO
Toda a matria presente na Terra e da qual somos feitos representa somente
um sexto das outras formas de matria existentes no Universo, ou seja, somos apenas
uma pequena parte do que conhecemos sobre o Cosmo
concepes diferentes, ambos representam os esforos do
homem em desvendar os mistrios do Universo e da vida. Por
isso, devem ser compreendidos dentro do contexto cultural
onde foram criados e no comparados como o falso e o
verdadeiro. Os mitos de criao (do homem, do universo,
da natureza), por exemplo, so retratos importantes sobre a
maneira como uma sociedade percebe e organiza a realidade
sua volta. E a Cincia tambm uma forma de organizar
essa realidade, mas no a nica.
Hoje em dia, a teoria de criao do Universo mais aceita
pela Cincia o Big Bang, segundo a qual, h cerca de 14
bilhes de anos, houve uma grande exploso, que concen-
trava toda a matria existente na parte do Universo que
Pluto visto a partir de uma de suas luas.
N
A
S
A
/
J
P
L
U
N
I
V
E
R
S
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 25
AMBIENTES
NO CONFUNDA...
M
Astronomia a palavra astronomia signi-
fca, etimologicamente, leis das estrelas e a
cincia que observa os eventos que acontecem
fora da Terra e em sua atmosfera. Estuda as
origens, a evoluo e os aspectos fsicos e qu-
micos dos objetos que podem ser observados
no espao, assim como todos os processos que
envolvem esses corpos celestes.
M
Cosmologia estudo da estrutura fsica e da
histria do Universo ao longo de sua existncia.
Em particular, trata de assuntos relativos sua
origem, expanso e tamanho.
M
Cosmogonia tambm estuda a origem
do Universo, mas sob o ponto de vista flosfco,
que busca um sentido para sua existncia. Mitos
de criao do Universo, como nas religies, so
exemplos de Cosmogonia.
SAIBA MAIS Biblioteca Virtual de Astronomia
(www.prossiga.br/astronomia).
podemos observar. A partir da exploso gerada pela enorme
concentrao de energia, essa matria se espalhou, criando
incontveis galxias, que continuam se afastando umas das
outras na medida em que o Universo se expande.
As galxias so conjuntos de estrelas, planetas, poeiras,
gases e nebulosas que se mantm agrupados pela gravidade
dos corpos celestes e podem ter diversas formas: elpticas,
espirais e irregulares. A partir de 1986, mapas do Universo
mostraram que essas galxias no esto organizadas de
maneira aleatria, e sim em estruturas complexas, em torno
de bolhas chamadas vazios csmicos (partes do Universo
sem concentrao de matria). Esses mapas so construdos
a partir da posio das galxias no Universo, situadas a
distncias que chegam a bilhes de anos-luz da Terra.
E ns?
A Via Lctea a galxia onde vivemos, cuja forma uma
espiral. Uma das bilhes de estrelas desse aglomerado as
mais velhas esto no centro - o nosso Sol, em torno do qual
giram diversos satlites, asterides, cometas, meteorides,
poeira e planetas, entre eles a Terra. Esse conjunto forma o
nosso Sistema Solar (SS). Sozinho, o Sol responde por 99,8%
da massa total do SS e, com sua fora de atrao, mantm
unidos esses corpos celestes.
O QUE UM ANO-LUZ?
Ano-luz a unidade de comprimento utili-
zada para marcar distncias no espao csmico,
seja entre as estrelas de uma mesma galxia ou
entre galxias diferentes, e corresponde ao espao
percorrido por um raio de luz em 1 ano.
Como a velocidade da luz a mais rpida que
conhecemos, o ano-luz muito grande para ser
aplicado como medida na Terra.
Para se ter uma idia dessa grandeza, imagine
um carro viajando a 300 mil quilmetros por
segundo (velocidade da luz) durante um ano,
sem parar: o trajeto percorrido ser o equivalente
a um ano-luz, ou aproximadamente 9.500 trilhes
de quilmetros.
VOC SABIA?
M
Os elementos qumicos que compem o
Planeta Terra, nossos rgos, ossos e todos os
outros elementos que fazem parte do corpo
humano como o carbono, o nitrognio e o
oxignio , so os restos mortais de estrelas
que existiram h 5 bilhes de anos, antes da
formao do nosso Sistema Solar.
M
Os mais antigos registros astronmicos
datam de aproximadamente 3000 a.C. e so
atribudos aos chineses, babilnios, assrios
e egpcios. O estudo dos astros serviam,
entre outras coisas, para medir o tempo
(para, por exemplo, prever a melhor poca
de colheita).
U
N
I
V
E
R
S
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 26
AMBIENTES
A Ecologia trata de nveis de organizao biolgica
crescentes, a partir da populao de indivduos de mesma
espcie, segundo a hierarquia: Populao gComu-
nidade gEcossistema gBiosfera. Classicamente, a
Biosfera considerada o conjunto de todos os ecossis-
temas da Terra. Porm, as condies para a emergncia
da vida dependem das vizinhanas astronmicas da
Terra, da situao do Sol dentro da Galxia e da prpria
natureza do Universo. A Bioesfera teria, portanto, uma
escala csmica e no apenas terrestre. A conexo entre
ecologia e cosmologia magnifcamente expressa pelo
astrnomo britnico Martin Rees: a cosmologia a
maior das cincias ambientais.
As condies fsicas do nosso Universo o tornam
hospitaleiro para a vida. Dentro de um Multiverso
com vrios possveis universos, o nosso Universo um
universo biflo, que permite a emergncia de nveis de
complexidade altos o sufciente para que a vida surja.
Em um outro universo no teramos essa sorte.
Um modo de se situar a origem da vida na evoluo
cosmolgica observar a tendncia de temperatura
decrescente de um cosmos em expanso. O Universo
muito jovem estava preenchido com um campo de
radiao de temperatura muito alta. Em cerca de 10
-10
segundos depois do Big Bang, o Universo se resfriou o
sufciente para que matria e antimatria se aniqui-
lassem, convertendo massa em energia, deixando um
pequeno excesso (uma parte em um bilho) de matria.
Essa matria, embora um componente minoritrio no
Universo (na radiao de fundo csmica, h dois bilhes
de ftons para cada tomo), permitiu que prtons,
ncleos, tomos e ns aparecssemos.
Em 10
-5
segundos do Big Bang, o contedo trmico
do Universo reduziu-se o sufciente para que os quarks
se juntassem em trincas, formando os familiares
prtons e os nutrons, que constituem o componente
pesado da matria visvel do Universo at hoje. Quando
o Universo tinha entre 1 e 300 segundos de idade, sua
temperatura j era baixa o sufciente para que a fora
nuclear ligasse os prtons e nutrons nos primeiro
ncleos, produzindo, alm do hidrognio, que apenas
um prton, o deutrio, o hlio e o ltio. Essa etapa um
pouco inspida, pois ainda no h nenhum carbono
ou oxignio.
Passaram-se 400.000 anos sem nenhuma novi-
dade. A matria se mantinha em equilbrio com o mar
de ftons que preenchia o Universo. No fnal desta
era, porm, a temperatura havia cado sufciente para
que a fora eletromagntica ligasse eltrons e prtons
em tomos de hidrognio. Surge mais um nvel de
estrutura: os tomos.
Finalmente, h uns poucos milhes de anos do
Big Bang, a temperatura cai o sufciente para que se
formem as primeiras molculas de hidrognio (H
2
).
um novo nvel de complexidade: as molculas. Porm,
como ainda no h carbono, nitrognio e oxignio,
nessas nuvens moleculares primitivas no h molculas
de interesse biolgico, no h gua.
Somos restos de estrelas
O Universo continua a se expandir e a se resfriar.
Quando a temperatura das nuvens moleculares cai
ainda mais, entra em jogo a fora mais fraca do Uni-
verso: a fora gravitacional. As nuvens moleculares
colapsam sob a ao da gravidade e do origem s
primeiras estrelas. Este evento torna o Universo muito
mais interessante. O perodo anterior conhecido
como idade das trevas, pois nada brilha no Universo.
Agora brilham as estrelas, com importantssimas
conseqncias. Em primeiro lugar, as estrelas formadas
reionizam o Universo, tornando-o relativamente trans-
parente. Em segundo lugar, as estrelas criam regies
com temperaturas muito altas, rompendo o equilbrio
termodinmico e fornecendo energia livre pela primeira
ECOSSISTEMAS NA ESCALA CSMICA
AMNCIO C. S. FRIAA*
*Astrofsico, professor associado do Instituto de Astronomia,
Geofsica e Cincias Atmosfricas da USP
U
N
I
V
E
R
S
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 27
AMBIENTES
vez na histria do Universo (e sem energia livre, no h
vida). E, fnalmente, e mais excitante, elas produzem os
elementos pesados (alm do hlio e ltio).
As estrelas inicialmente queimam hidrognio em
hlio no seu interior, repetindo um processo que j
havia acontecido no Big Bang. Aps algum tempo, o
hidrognio se esgota no centro estelar, cessa a queima
termonuclear e resta um ncleo estelar de hlio. O
ncleo se comprime, atinge presses e temperaturas
altssimas, at que se dispara a queima do hlio. Cada
trs ncleos de hlio se fundem em um de carbono. O
aparecimento do carbono um salto sem precedentes
na evoluo da complexidade, pois ele permite uma
qumica complexa. Dentro das estrelas so posterior-
mente produzidos os demais elementos da tabela
peridica. Os primeiros elementos sintetizados so
carbono, oxignio e nitrognio. Outros elementos, em
especial o ferro, so produzidos nas geraes estelares
seguintes.
A vida terrestre constituda por H, O, C e N, os
primeiro, terceiro, quarto e quinto elementos mais
abundantes do Universo (o segundo elemento o
quimicamente inerte He) e os primeiros a surgirem.
Assim, a vida na Terra representativa da qumica do
Universo. de se esperar que HCNO tambm seja a
base da vida em outras partes do cosmos, refetindo
as abundncias csmicas dos elementos.
gua est em toda parte
Tambm as abundncias csmicas favorecem
a existncia da gua. H
2
O a combinao dos dois
mais abundantes elementos quimicamente ativos do
Universo. a mais abundante molcula tri-atmica do
Universo. Encontramos gua em toda parte. Porm,
gua lquida muito menos comum, pois ocorre em
uma estreita faixa de temperaturas. Alm disso, exige
altas presses, pois abaixo de uma presso crtica,
h transio de fase direta do slido para o gasoso e
vice-versa.
Inferno de Dante
Por uma coincidncia csmica, a gua formada
no Universo, quando as temperaturas so sufciente-
mente baixas para que ela exista no estado lquido.
Planetas surgem nessa etapa da evoluo csmica
fornecendo os ambientes propcios para a gua lqui-
da. Tais ambientes no se restringem s atmosferas
e superfcies planetrias, mas podem ser tambm
subterrneos.
Os limites de temperatura para que a gua exista
em estado lquido na superfcie terrestre situam-se
entre 0
o
C e 100 C, mas sob alta presso, o ponto de
ebulio pode chegar a 650 C. Tal fato, em vista da
evoluo geral de universo quente para um universo
frio, pode sugerir uma origem de alta temperatura
para a vida. De fato, nas origens da vida na Terra, h
um predomnio dos hipertermflos (organismos com
mxima temperatura para o crescimento prxima
ou acima de 100 C). Esse limite para o domnio
da vida das primitivas Archaea igual ou maior a
120 C, para as Bacteria, 95 C e, para os evoludos
Eukarya (dos quais fazemos parte), 60 C. Pode-se
suspeitar que, tambm em um contexto csmico, os
locais mais provveis para o aparecimento da vida
estejam mais prximos do Inferno de Dante do que
do Paraso do Gnesis.
Nuvem de hidrognio e poeira, formando uma es-
trela recm-nascida.
S
I
T
E
D
A
N
A
S
A
(
W
W
W
.
N
A
S
A
.
G
O
V
)
U
N
I
V
E
R
S
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 28
AMBIENTES
Os planetas so astros bem menores do que o Sol
essa estrela mais de cem vezes maior do que a Terra,
por exemplo.
Em ordem crescente de distncia do centro do Sis-
tema Solar, os oito planetas se distribuem da seguinte
forma: Mercrio, Vnus, Terra, Marte, Jpiter, Saturno,
Urano e Netuno. O maior deles Jpiter aproximada-
mente 11 vezes maior que a Terra.
SAIBA MAIS Livro Virtual de Astronomia e
Astro fsica (http://astro.if.ufrgs.br/index.html);
Imagens do Universo (http://antwrp.gsfc.nasa.
gov/apod/archivepix.html); Observatrio Nacio-
nal (www. on.br).
VEJA TAMBM Planeta Terra (pg. 33).
Em 24 de agosto de 2006, Pluto deixou de ser
um planeta! Nessa data, a Unio Astronmica Inter-
nacional (IAU), em sua Assemblia Geral, aprovou
resoluo segundo a qual um planeta um corpo
celeste que: a) est em rbita ao redor do Sol; b) tem
forma aproximadamente esfrica (e no com forma
de batata, por exemplo, como alguns asterides); e
NOVA ORDEM DO SISTEMA SOLAR
AMNCIO C. S. FRIAA*
c) limpou a vizinhana de sua rbita. essa ltima
condio que elimina Pluto como um planeta. Um
verdadeiro planeta teria eliminado todos os corpos
celestes prximos de sua rbita, seja colidindo com eles,
capturando-os como luas ou expulsando esses corpos
para longe. Essa condio no se aplica a Pluto, pois
ele pequeno demais para ter limpado a sua rbita,
que, at mesmo, chega a cruzar a rbita de Netuno,
que possui um raio quase 25 vezes maior do que o
de Pluto. Agora, o Sistema Solar possui apenas oito
planetas conhecidos: Mercrio, Vnus, Terra, Marte,
Jpiter, Saturno, Urano e Netuno.
Pluto faz agora parte de uma nova categoria de
corpos do Sistema Solar, os planetas anes. Em seguida
resoluo da IAU de 2006, o conjunto dos planetas
anes j contava com trs membros: o prprio Pluto,
Ceres e ris. Ceres, o maior objeto do Cinturo de As-
terides, entre Marte e Jpiter, tem o dimetro de 950
km e foi reconduzida da condio de asteride para a
de planeta ano. J ris, com dimetro de 2.400 km e,
portanto, maior que Pluto, com 2.274 km de dimetro,
a responsvel pela desplanetarizao de Pluto. Foi
ris a deusa que lanou o pomo da discrdia a Pris,
provocando o confronto entre as deusas olmpicas que
levou Guerra de Tria. O nome ris assinala o tenso
debate entre os astrnomos antes da deciso de mudar
a categoria de Pluto.
*Astrofsico, professor associado do Instituto de Astronomia,
Geofsica e Cincias Atmosfricas da USP Sistema Solar (montagem Nasa).
N
A
S
A
U
N
I
V
E
R
S
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 29
AMBIENTES
QUEM FAZ A HISTRIA
Grandes cientistas elaboraram diferentes teorias sobre o Universo ao longo da Histria. Conhea alguns
deles, responsveis pela construo da concepo moderna do Cosmo na Cincia.
M
CLUDIO PTOLOMEU (sculo II d.C.) Ptolomeu, astrnomo grego, elaborou o Geocentrismo, teoria
na qual a Terra o centro do Universo e todos os corpos celestes - estrelas, planetas, cometas etc. - giram
em torno dela. Essa concepo foi ofcialmente adotada pela Igreja Catlica, que considerava ser o Homem
e a Terra o centro de tudo.
M
NICOLAU COPRNICO (1473-1543) Coprnico, em seu livro Revoluo dos Corpos Celestes, defende que
o centro do Universo o Sol e no a Terra, como props Ptolomeu. Essa teoria, chamada de Heliocentrismo
(porque se achava que o elemento hlio, que compe em torno de 9% do Sol, s era encontrado ali), provoca
uma revoluo na concepo do Universo e desafa a Igreja Catlica da poca, j que derruba a concepo de
que o homem tem um lugar especial no Cosmo. Por essa razo, Coprnico, que era eclesistico e no queria
desrespeitar a Igreja, tomava cuidado para que, na poca, ela no tivesse muita repercusso.
M
GALILEU GALILEI (1564-1642) Galileu foi o primeiro a apontar para o cu um telescpio, construdo por ele
mesmo. Com seu experimento, constatou que a Lua era cheia de crateras e montanhas, que satlites orbitavam em
torno de Jpiter, que o Sol tinha manchas, e outras observaes que contrariavam o conhecimento da poca.
M
JOHANNES KEPLER (1571-1630) Kepler, baseado na idia de Coprnico, publica os estudos mais im-
portantes de introduo astronomia heliocntrica (Sol no centro do Universo). Descobre que os planetas se
movem em torno do Sol em rbitas elpticas e cria leis especfcas para esse movimento, gerando provas de
que Coprnico estava certo. Suas obras fguravam entre os livros proibidos pela Igreja Catlica.
M
ISAAC NEWTON (1642-1727) Newton, um dos mais importantes cientistas da Histria, elaborou a teoria
da gravitao Universal, na qual os corpos celestes possuem uma fora central que atrai outros corpos para si.
Assim, explica o movimento dos corpos celestes em torno de outros, como a Lua em volta da Terra e tambm
o fato de os elementos do Planeta Terra se manterem na superfcie, sem cair para o espao.
M
ALBERT EINSTEIN (1879 - 1955) Einstein formulou, em 1905, a Teoria da Relatividade, segundo a
qual o tempo e o espao no so absolutos e fxos: eles podem ter diferentes medidas de acordo com o sistema de
referncias adotado. Um outro ponto dessa teoria de que a velocidade da luz no vcuo constante, podendo ser
usada como medida de distncia no Universo (anos-luz). Einstein d o exemplo dos raios e o trem. Dois indivduos
observam dois raios que atingem simultaneamente as extremidades de um trem (que anda em velocidade cons-
tante em linha reta) e chamuscam o cho. Um deles est dentro do trem, exatamente na metade dele. O segundo
indivduo est fora, bem no meio do trecho entre as marcas do raio. Para o observador que est no cho e fora do
trem, os raios caem simultaneamente. Mas o homem no trem v os raios carem um depois do outro, porque ele,
ao mesmo tempo que se desloca dentro do trem em direo ao relmpago da frente, se afasta do relmpago que
cai na parte traseira. Como a velocidade da luz constante, o relmpago da frente chegaantes que o de trs aos
olhos do indivduo dentro do trem. Sua Teoria da Relatividade Geral (1916) revolucionou a descrio da gravidade,
atribuindo-a a curvatura do espao em torno de objetos massivos.
M
EDWIN HUBBLE (1889-1953) Hubble realizou uma das mais importantes descobertas para a cosmologia
moderna. Usando o telescpio mais potente da poca, Hubble observou que as galxias se afastam uma das outras,
fugindopara distncias cada vez maiores. Isso mostra que o Universo est em expanso, em todos os sentidos.
U
N
I
V
E
R
S
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 30
AMBIENTES
De onde viemos? Estamos ss? Estas ques-
tes fundamentais so feitas desde a aurora da hu-
manidade. A origem e a natureza da vida pertence a
esta ordem de indagaes primeiras. A Astrobiologia
uma abordagem recente, cheia de efervescncia
intelectual dessas grandes questes. O NAI (NASA
Astrobiology Institute) define a Astrobiologia como
o estudo do Universo vivo. Essa definio inclui
implicitamente o estudo da vida na Terra e como a
evoluo da vida terrestre condicionada por even-
tos no Sistema Solar e na Via Lctea. O impacto do
asteride em Chicxulub, no Golfo Mxico, que teria
causado a extino dos dinossauros h 65 milhes
de anos atrs, a mais conhecida das dramticas
interferncias csmicas sobre a vida na Terra. Mas,
fundamentalmente, a tarefa mais excitante da Astro-
biologia a procura da vida fora da Terra.
No comeo do sculo XXI, a Astrobiologia sofreu
uma revoluo. Isso graas aos resultados das sondas
espaciais a Marte e a Titan (o satlite de Saturno),
aos avanos da biologia molecular, reconstituio
por simulaes computacionais do processo de es-
peciao em escalas de tempo da ordem do bilho
de anos, descoberta de uma enorme quantidade
de planetas extrassolares, aos novos resultados
observacionais, computacionais e laboratoriais da
astroqumica, s estimativas mais acuradas dos
impactos sobre a evoluco da vida causados por
eventos csmicos, como supernovas e quedas de
asterides e cometas.
De fato, algo que tem impulsionado enorme-
mente a Astrobiologia a descoberta de exoplanetas,
ou seja, planetas orbitando em torno de outras
estrelas. Cada uma dessas estrelas constitui um sol
em torno do qual orbita um exoplaneta. As vezes,
descobre-se vrios exoplanetas em torno da mesma
estrela. At 2007, havia mais de 250 exoplanetas
descobertos. Esse nmero dever ser multiplicado
vrias vezes com a entrada em operao do telesc-
pio espacial europeu Corot (lanado no final de 2006
e do qual o Brasil faz parte), assim como do satlite
norte-americano Kepler.
Uma das novidades das misses Corot e Kepler
que elas permitem descobrir planetas rochosos
e pequenos como a Terra, os chamados planetas
telricos. Antes do lanamento desses satlites, a
esmagadora maioria dos exoplanetas eram planetas
gigantes gasosos girando prximos das suas estrelas.
O prottipo de um planeta gigante gasoso Jpiter,
que tem 300 vezes a massa da Terra.
A descoberta preferencial de Jpiteres devida
limitao do mtodo de descoberta, o chamado
mtodo das velocidades radiais. A estrela balana
em torno do centro de massa do sistema planetrio,
devido perturbao gravitacional exercida pelo
planeta, enquanto ele orbita a estrela. Esse balano
necessariamente pequeno, porque a estrela
bem maior que o planeta. Esse balano faz com
que a velocidade radial (isto , na nossa direo)
da estrela varie, ora ela se afastando mais, ora se
aproximando mais. O que se observa a estrela e
sua velocidade radial, e no o planeta diretamente.
As caractersticas do planeta massa, distncia da
estrela e perodo orbital so deduzidas a partir das
observaes da estrela.
O mtodo de velocidades radiais no permite
que se descubra planetas pequenos como a Terra,
porque a perturbao gravitacional de uma Terra na
estrela seria diminuta, indetectvel. No mximo, esse
mtodo poderia levar descoberta de Superterras,
como o caso do exoplaneta Gliese 581c, anunciado
em 2007. Ele foi descoberto pelo telescpio de 3,6
m do Observatrio Europeu do Sul (ESO) em La Silla,
no Chile. Gliese 581c, um planeta com cinco vezes a
A VIDA NO UNIVERSO
AMNCIO C. S. FRIAA*
*Astrofsico, professor associado do Instituto de Astronomia,
Geofsica e Cincias Atmosfricas da USP
U
N
I
V
E
R
S
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 31
AMBIENTES
massa da Terra, orbita em torno de Gliese 581, uma
estrela menor, mais fria e muito menos luminosa
que o nosso Sol, e que fica a 20,5 anos-luz da Terra.
Gliese 581c faz parte de um sistema solar com trs
planetas conhecidos. Algo fascinante a seu respeito
que ele est a uma distncia da estrela que permite
a existncia de gua em estado lquido. Ou seja, esse
planeta est na zona habitvel.
Os telescpios espaciais Corot e Kepler usam um
outro mtodo de deteco, o mtodo dos trnsitos.
Nesse mtodo, o planeta passa na frente da estrela
e produz uma pequena reduo no brilho, porque
oculta um pedao da estrela. O valor dessa reduo
permite deduzir o tamanho do planeta. Esse mtodo
preciso o suficiente para permitir a descoberta
de planetas do tamanho da Terra, os planetas
telricos. Estima-se que se descubram com o Corot
cerca de 1.000 planetas gasosos gigantes e 100
planetas telricos, dos quais algumas dezenas na
zona habitvel. Futuros telescpios espaciais, como
o europeu Darwin e o norte-americano TPF (Terres-
trial Planet Finder), obteriam espectros de planetas
telricos, com o objetivo de verificar a presena de
gases - como O2, O3 e CH4 - indicadores da ao de
seres vivos. As misses Corot e Kepler forneceriam
os alvos a serem posteriormente investigados por
esses telescpios.
A zona habitvel se refere quela zona, de uma
dada largura, em torno da estrela, onde possvel
a existncia de gua lquida. Essa zona mais dis-
tante do sol do exossistema solar, para estrelas mais
luminosas, e vice-versa. A Terra, a 150 milhes de km,
por exemplo, est no meio da zona habitvel do Sol.
J Gliese 581c, a 11 milhes de km de Gliese 581,
encontra-se na zona habitvel dessa estrela.
Cachinhos dourados
Temos o humorosamente chamado problema
da Cachinhos Dourados. Na histria da Cachinhos
Dourados, ela chega na casa da Famlia Urso e en-
contra trs tigelas de mingau, uma muito quente,
uma muito fria e outra no ponto. Assim, a zona de
habitabilidade definida por dois raios, um interno,
mais prximo da estrela, mais quente, onde a gua
comea a ferver, e um raio externo, onde a gua
comea a congelar.
A definio da zona de habitabilidade depende
tambm da atmosfera planetria. Um planeta com
uma atmosfera muito fina pode no ter efeito es-
tufa o suficiente para manter a gua acima do ponto
de congelamento. No Sistema Solar, Vnus sempre
foi quente demais, enquanto Marte, no passado, j
esteve no ponto. Da as evidncias de gua lquida no
passado de Marte. A Terra em geral esteve no ponto,
exceto em duas ocasies de quase total glaciao (a
chamada Terra Bola de Neve).
Por que definir a zona habitvel pela presena
de gua lquida? Em primeiro lugar, por que gua
essencial para a vida como conhecemos. A prpria
Terra pode ser chamada com propriedade de Pla-
neta gua. Se ela tivesse um pouco mais de gua,
poderiam nem existir os continentes. No Sistema
Solar, Marte teve gua lquida em seu passado, e
Europa, uma das quatro grandes luas de Jpiter,
tem um vasto oceano subterrneo, debaixo de sua
crosta de gelo.
Porm, a gua tambm pode ser essencial para
a vida em outros pontos do Universo. Afinal, h
gua por toda parte no Cosmos. A gua a combi-
nao dos dois elementos quimicamente ativos mais
abundantes, o hidrognio e o oxignio. Os grandes
depositrios de gelo no Universo so os cometas e
a gua o principal componente dos cometas e dos
seres vivos. Na verdade, as propores dos elementos
qumicos em cometas e nos seres vivos, considerando
o hidrognio, oxignio, carbono e nitrognio, so
semelhantes. O ranking de importncia desses
elementos tambm o mesmo nas abundncias
csmicas. J a crosta terrestre apresenta um dficit
de carbono e dficit ainda maior de nitrognio e
hidrognio. Seramos ento antes filhos do Cosmos
do que da Terra?
U
N
I
V
E
R
S
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 32
AMBIENTES
O tamanho e a forma do Universo
A primeira revoluo sobre o tamanho do Universo
uma questo to antiga quanto a histria da humanidade
- foi a teoria do cientista ingls Isaac Newton de que o Cosmo
deveria ser infnito em todas as direes. Caso contrrio, a
atrao gravitacional dos corpos celestes faria com que eles
se embolassem todos no centro do Universo (se ele fosse
fnito e, portanto, possusse um centro). Depois de Newton,
houve outra grande descoberta: Edwin Hubble, em 1929,
observou que o Universo est em expanso, contrariando
Albert Einstein, que havia proposto um Universo fnito e
esttico. Apenas em 1931, aps uma visita a Hubble, Einstein
admitiu a expanso do Cosmo.
Hoje, sabe-se que o Universo tem a forma plana, como
a superfcie de uma mesa, e estende-se ao infnito em trs
dimenses. Mesmo assim, no possvel determinar seu
tamanho. Isso se deve ao fato de que estamos limitados
a observar o Universo visvel para ns, isto , a parte que
est dentro da esfera de 14 bilhes de anos-luz (a maior
distncia espacial detectada pela Cincia at hoje). Assim,
conhecemos a parte do Universo que nossa vizinha,
sabemos que ela plana, mas no se pode ter certeza do
que est do outro lado.
CONSULTOR: MARCELO GLEISER
Professor de fsica terica do Dartmouth College, em Hanover (EUA),
e autor do livro A Dana do Universo (Companhia Das Letras)
(1) Via-Lctea; (2) Telescpio Orbital Corot; (3) Regio de formao das estrelas mais densas que se tem notcia;
(4) Galxia Andrmeda.
C
N
E
S
/
D
.
D
U
C
R
O
S
S
1 2
4 3
A
.
M
A
R
S
T
O
N
(
E
S
T
E
C
/
E
S
A
)
E
T
A
L
.
,
J
P
L
,
C
A
L
T
E
C
H
,
N
A
S
A
/
2
0
0
4
R
O
B
E
R
T
G
E
N
D
L
E
R
/
N
A
S
A
K
N
U
T
L
A
N
D
M
A
R
K
/
L
U
N
D
0
B
S
E
R
V
A
T
O
R
Y
/
N
A
S
A
P
L
A
N
E
T
A
T
E
R
R
A
33
AMBIENTES
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
PLANETA TERRA
Urbanizao acelerada, escasseamento dos recursos naturais, mudanas climticas,
alm da perda da biodiversidade e da sociodiversidade, levam a populao humana
a discutir a sustentabilidade da vida no Planeta
O Planeta Terra abriga, atualmente, 6,4 bilhes de pes-
soas. Esse nmero seis vezes maior do que em 1830, poca
da Revoluo Industrial e incio do processo de crescimento
acentuado da populao nas cidades e reas urbanas. Nos
prximos 50 anos, segundo estimativas, a previso de que
o mundo tenha entre 8,5 e 9 bilhes de habitantes.
Mas como viver essa populao em 2050, se metade
dos recursos hdricos disponveis para consumo humano
e 47% da rea terrestre j so utilizados e ainda assim
800 milhes de pessoas passam fome e 24 mil a cada dia
morrem por este motivo? Estudos afrmam que a relao
entre o crescimento populacional e o uso de recursos do
Planeta j ultrapassou em 20% a capacidade de reposio
da biosfera e esse dfcit aumenta cerca de 2,5% ao ano.
Isso quer dizer que a diversidade biolgica - de onde vm
novos medicamentos, novos alimentos e materiais para
substituir os que se esgotam - est sendo destruda muito
mais rpido do que est sendo reposta e esse desequilbrio
est crescendo: at 2030, 70% da biodiversidade poder
ter desaparecido. As forestas tropicais, responsveis pela
maior parte dessa biodiversidade, so destrudas ao ritmo
de 130 mil km
2
por ano, o equivalente a pouco mais que o
estado do Cear. Para se ter uma idia, dos 64 milhes de
km2 de forestas existentes antes da expanso demogrfca
e tecnolgica dos humanos, restam menos de 15,5 milhes,
cerca de 24%. Ou seja, mais de 75% das forestas primrias j
desapareceram. Com exceo de parte das Amricas, todos
continentes desmataram, e muito.
Essa perda afeta gravemente os servios naturais (ciclos
e processos responsveis pelo equilbrio da natureza), como
Reconstruo digital do Planeta Terra a partir de fotos das misses espaciais Apollo, da Nasa, e imagens de satlite.
R
.
S
T
O
C
K
L
I
,
A
.
N
E
L
S
O
N
,
F
.
H
A
S
L
E
R
,
N
A
S
A
/
G
S
F
C
/
N
O
A
A
/
U
S
G
S
P
L
A
N
E
T
A
T
E
R
R
A
AMBIENTES
34 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
por exemplo o regime hidrolgico, a fertilidade natural do
solo e as cadeias reprodutivas marinhas (ver Servios
Ambientais, pg. 459).
Os cenrios de escasseamento dos recursos naturais tm
gerado discusses sobre o possvel surgimento de confitos
e disputas entre pases. o caso da gua, por exemplo, que
por ter sua disponibilidade comprometida (pelo mau uso,
desperdcio, poluio, entre outros problemas) e ser distri-
buda de maneira irregular pelo mundo (algumas regies
com muita e outras com pouca), pode ser o principal motivo
de guerras no sculo XXI, segundo advertncias das Naes
Unidas, que tambm chama a ateno para a necessidade
de uma maior cooperao internacional.
A urbanizao do Planeta tambm tem gerado debates
e preocupaes. Nos ltimos 50 anos, a velocidade e a escala
com que a populao urbana cresceu, principalmente em
regies menos desenvolvidas, geraram grandes desafos
sustentabilidade das cidades. Cerca de 4% da populao
mundial vive nas maiores concentraes urbanas do mundo,
das quais a Regio Metropolitana de So Paulo est em
quarto lugar, atrs de Tquio (Japo), Cidade do Mxico
(Mxico) e Mumbai (ndia). Em 2015, estima-se que 10%
da populao urbana mundial viver em mega-cidades. A
previso de que o nmero de pessoas em regies urbanas
subir de 3 bilhes em 2003, para 5 bilhes em 2030 (ou
seja, 60% da populao mundial viver em cidades). Em
parte, essa mudana atribuda ao fenmeno da migrao,
que provocou grande crescimento nas zonas urbanas de
pases subdesenvolvidos.
A rapidez do crescimento dessas reas nas ltimas
dcadas gerou problemas como falta de saneamento
apropriado e a ocupao urbana irregular, muitas vezes em
locais que deveriam ser preservados, como as zonas costeiras
e de mananciais.
Com todas essas mudanas, a sociodiversidade
tambm fca comprometida, com povos espalhados por
todos os continentes perdendo suas terras, identidade e
lngua. Atualmente, segundo a Unesco, so mais de 6 mil
MAPA-MNDI
L
A
B
O
R
A
T
R
I
O
D
E
G
E
O
P
R
O
C
E
S
S
A
M
E
N
T
O
D
O
I
N
S
T
I
T
U
T
O
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
,
2
0
0
4
.
F
O
N
T
E
:
D
C
W
.
P
L
A
N
E
T
A
T
E
R
R
A
35
AMBIENTES
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
UM P DE QU ?
CAF
Vamos tomar um caf? Essa frase pode ser o
comeo ou o fm de um namoro, de um contrato, de um
projeto ela pode pontuar decises importantssimas ou
apenas servir a matar o tempo. Em todo caso, 400 bilhes
de vezes ao ano toma-se uma xcara de caf. Depois da
gua, o caf o lquido mais consumido no Planeta.
Diz a lenda que um pastor de cabras l no Imen,
na antiga Abissnia, percebeu que elas fcavam super
animadas quando comiam uma frutinha vermelha
de um arbusto. O pastor, claro, quis saber qual era a
da frutinha, deu uma mordida e fcou animadssimo!
A notcia da bebida mgica se espalhou. Os monges
islmicos que moravam perto do pastor comearam
a preparar uma infuso com a semente bebiam e
fcavam ligades durante as oraes noturnas. Pronto,
surgiu o cafezinho.
Os livros de histria contam que os peregrinos
islmicos que partiam da Abissnia para Meca levavam
consigo alguns gros para fcarem acordados durante
a longa viagem. Assim, os rabes fcaram conhecendo
a planta africana ao verem chegar aqueles viajantes
vindos de to longe e nem to cansados assim.
Os vidos mercadores rabes atravessaram o Mar
Vermelho e trouxeram o caf da frica para o Oriente.
Quando os turcos tomaram Constantinopla
levaram o caf com eles mundo
afora nas suas conquistas. O
sucesso do caf foi tanto que, no
Oriente Mdio, uma lei turca
autorizava a mulher a pedir
divrcio, caso seu marido
no lhe desse a sua quota
diria de caf.
Na Europa Ocidental,
at o incio do sculo XVII
o caf era apenas uma
lenda do Oriente. A
porta de entrada
foi Viena, que sitiada pelos turcos descobriu a bebida.
Mas os rabes queriam guardar o monoplio e escal-
davam todas as sementes antes de export-las. Assim
eles impediam o replantio. Os rabes se apegaram
tanto ao caf que hoje em dia o tipo mais comum
classifcado como arbica em homenagem ao povo
que vislumbrou maior futuro para aquela bebida.
Os primeiros ocidentais a conseguirem sementes
frteis foram os holandeses. Eles logo saram plantando
em suas colnias como Ceilo, Java, Malabar. Em 1718
levaram o caf para o Suriname. S dava caf holands.
Mas logo virou mania entre os nobres presentearem
mudas de caf. Franceses, ingleses e espanhis espa-
lharam o caf por todas as colnias, de Cuba ao Qunia,
do Vietn Austrlia.
Os primeiros gros de caf que chegaram no Brasil,
dizem, estavam no bolso da casaca do sargento-mor
Francisco de Melo Palheta, vindo de uma expedio
Guiana Francesa, em 1727.
A histria brasileira do caf comeou l no Par.
Depois veio descendo pelo Nordeste, passando pelo
Maranho, Cear, Pernambuco e Bahia, at chegar, por
volta de 1760, no Rio de Janeiro. Em terras fuminenses,
comea o sucesso do caf brasileiro, seguindo serra
acima o Vale do Paraba. Em 1870, o plantio entra em
declnio no Vale e o Oeste Paulista, com sua terra
roxa, toma a frente. No fnal do sculo XIX, So
Paulo j era a capital mundial do caf.
O campeo da safra de 2004/2005
foi Minas Gerais, com 48% da oferta
nacional. O Brasil ainda , junto
com a Colmbia, o maior produtor
de caf do Planeta coloca todo
mundo no bolso onde, alis,
essa histria comeou.
SAIBA MAIS Pindorama Fil-
mes (www.pindoramaflmes.
com.br; www.futura.org.br).
I
L
U
S
T
R
A
O
R
U
B
E
N
S
M
A
T
U
C
K
P
L
A
N
E
T
A
T
E
R
R
A
AMBIENTES
36 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
A Cpula do Milnio o maior encontro de dirigentes mundiais de todos os tempos , reuniu chefes de
estado de 191 pases, em setembro de 2000, para fazer consideraes sobre as urgncias socioambien-
tais do Planeta. Como resultado, alm de uma declarao das Naes Unidas chamando a ateno
para os problemas mais graves, foram estabelecidas as Metas do Milnio, a serem atingidas at 2015.
Faltam, agora, apenas sete anos para o prazo fxado, e no h mudanas expressivas. As metas esto
estreitamente vinculadas entre si: para alcan-las, ser preciso contar com aes combinadas e
bem fundamentadas dos governos, da sociedade civil e da comunidade internacional mobilizados
em torno de enfoques estratgicos. Estudos indicam que particularmente a erradicao da pobreza
no suceder sem aes incisivas e maior destinao de recursos para as reas de sade, educao e
controle do aumento demogrfco.
1) Erradicar a extrema pobreza e a fome
Objetivo: reduzir pela metade, entre 1990 e 2015, a proporo da populao com renda inferior a um
dlar por dia, que hoje ultrapassa 1 bilho de pessoas (Banco Mundial) e a proporo da populao que
sofre de fome.
2) Atingir o ensino bsico universal
Objetivo: garantir que, at 2015, todas as crianas, de ambos os sexos, terminem um ciclo completo de ensino bsico.
3) Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres
Objetivo: eliminar a disparidade entre os sexos no ensino primrio e secundrio, se possvel at 2005, e em todos
os nveis de ensino, o mais tardar at 2015.
4) Reduzir a mortalidade de crianas
Objetivo: reduzir em dois teros, entre 1990 e 2015, a mortalidade de crianas menores de 5 anos.
5) Melhorar a sade materna
Objetivo: reduzir em trs quartos, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade materna.
6) Combater o HIV/AIDS, a malria e outras doenas
Objetivo: at 2015, ter detido a propagao do HIV/AIDS e comeado a inverter a tendncia atual.
7) Garantir a sustentabilidade ambiental
Objetivo: Integrar os princpios do desenvolvimento sustentvel nas polticas e programas nacionais e reverter a
perda de recursos ambientais e reduzir pela metade, at 2015, a proporo da populao sem acesso permanente
e sustentvel a gua potvel segura.
8) Estabelecer uma Parceria Mundial para o Desenvolvimento
Objetivo: avanar no desenvolvimento de um sistema comercial e fnanceiro aberto, baseado em regras, previsvel
e no discriminatrio e tratar globalmente o problema da dvida dos pases em desenvolvimento, mediante medidas
nacionais e internacionais de modo a tornar a sua dvida sustentvel no longo prazo.
SAIBA MAIS (www.undp.org.br/milenio).
AS METAS DO MILNIO PARA O PLANETA TERRA
P
L
A
N
E
T
A
T
E
R
R
A
37
AMBIENTES
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
No apenas as pessoas mais idosas mas tambm
jovens fazem a experincia de que tudo est se acele-
rando excessivamente. Esse sentimento ilusrio ou
tem base real? Embora seja questionada por muitos
cientistas, a ressonncia Schumann procura dar uma
explicao a essa sensao.
O fsico alemo W.O. Schumann constatou em 1952
que a Terra cercada por um campo eletromagntico
poderoso que se forma entre o solo e a parte inferior da
ionosfera, cerca de 100 km acima de ns. Esse campo
possui uma ressonncia (dai chamar-se ressonncia
Schumann), mais ou menos constante, da ordem de 7,83
pulsaes por segundo. Funciona como uma espcie de
marca-passo, responsvel pelo equilbrio da biosfera,
condio comum de todas as formas de vida. Verifcou-se
tambm que todos os vertebrados e o nosso crebro so
dotados da mesma freqncia de 7,83 hertz.
Empiricamente fez-se a constatao de que no
podemos ser saudveis fora dessa freqncia biolgica
natural. Sempre que os astronautas, em razo das via-
gens espaciais, fcavam fora da ressonncia Schumann,
adoeciam. Mas submetidos ao de um simulador
Schumann recuperavam o equilbrio e a sade.
Por milhares de anos as batidas do corao da
Terra tinham essa freqncia de pulsaes e a vida se
desenrolava em relativo equilbrio. Ocorre que a partir
dos anos 1980, e de forma mais acentuada a partir dos
anos 1990, a freqncia passou de 7,83 para 11 e para
13 hertz por segundo. O corao da Terra disparou.
Coincidentemente, desequilbrios ecolgicos se
fzeram sentir: perturbaes climticas, maior atividade
dos vulces, crescimento de tenses e confitos no mun-
do e aumento geral de comportamentos desviantes
nas pessoas, entre outros. Devido acelerao geral,
a jornada de 24 horas, na verdade, somente de 16
horas. Portanto, a percepo de que tudo est passando
rpido demais no ilusria, mas teria base real nesse
transtorno da ressonncia Schumann.
Os dados do Painel Inter-governamental sobre
Mudanas Climticas de fevereiro de 2007, rgo da
ONU envolvendo cerca de 2.500 cientistas, nos revela-
ram esta grave notcia. A Terra ultrapassou o limite de
suportabilidade. Ela encontrar seu equilbrio ao subir a
temperatura entre , 8, 3 e at, em alguns lugares, 6 graus
Celsius. Este um fato inevitvel. No podemos mais parar
a roda, apenas desaceler-la mediante um processo de
adaptao ou de minorao dos efeitos nocivos. Haver
grandes dizimaes de espcies e milhes de pessoas
podero correr risco de vida. A Terra Gaia, quer dizer, um
super-organismo vivo que articula o fsico, o qumico, o
biolgico e o antropolgico de tal forma que ela se torna
benevolente para com a vida. Agora ela no consegue
sozinha se auto-regular. Temos que ajud-la, mudando
o padro de produo e de consumo. Caso contrrio,
poderemos conhecer o destino dos dinossauros. Ns, seres
humanos, somos Terra que sente, pensa e ama.
A busca do equilbrio deve comear por ns mes-
mos: fazer tudo sem estresse, com mais serenidade,
com mais amor, que uma energia csmica e essen-
cialmente harmonizadora. Precisamos respirar juntos
com a Terra, para conspirar com ela pela paz, que o
equilbrio do movimento.
RESSONNCIA SCHUMANN
LEONARDO BOFF*
* Membro da Comisso Internacional da Carta da Terra
(www.leonardobof.com)
lnguas faladas no mundo, das quais 50% esto ameaadas
de desaparecer. Elas representam no s diferentes formas de
comunicao, mas tambm sistemas de valores e expresso
cultural da identidade dos povos. A metade de todos esses
idiomas, no entanto, est concentrada em apenas oito pases:
Papua-Nova Guin (832), Indonsia (731), Nigria (515), ndia
(400), Mxico (295), Camares (286), Austrlia (268) e Brasil
(em torno de 180). No por acaso, quatro desses pases (Brasil,
Mxico, ndia e Indonsia) tambm fazem parte do grupo das
12 naes com a maior biodiversidade do Planeta.
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
S
E
B
A
S
T
I
O
S
A
L
G
A
D
O
38
PLANETA TERRA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
F
O
T
O
S
:
S
E
B
A
S
T
I
O
S
A
L
G
A
D
O
/
A
M
A
Z
O
N
A
S
I
M
A
G
E
S
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
S
E
B
A
S
T
I
O
S
A
L
G
A
D
O
39
PLANETA TERRA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Pgina ao lado
Iceberg entre a ilha Paulet
e as ilhas Shetlands no
Canal Antrtica, 2005 (alto);
Lees-marinhos Zalophus
californianus, Puerto Egas
na Baa de James, Ilha de
Santiago. Galpagos, Equador,
2004 (embaixo).
Nesta pgina
Colnia de centenas de
milhares de pinguins
Pygoscelis antarctica na
Baily Head, Ilha Deception,
Antrtica, 2005 (acima); Baleia
franca austral, chamada
Adelita. Tem esse nome pelo
fato de ter sempre sido vista
na Baa de Adlia que est
perto do ponto Pirmede no
Golfo Novo. Pennsula Valds,
Patagnia, Argentina, 2004
(ao lado).
F
O
T
O
S
:
S
E
B
A
S
T
I
O
S
A
L
G
A
D
O
/
A
M
A
Z
O
N
A
S
I
M
A
G
E
S
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
S
E
B
A
S
T
I
O
S
A
L
G
A
D
O
40
PLANETA TERRA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Nesta pgina
Retrato de um grupo de chefes Kamaiur.
O homem sentado no meio, com um
chapu de pele de jaguar, um dos mais
importantes chefes religiosos no Xingu
inteiro. Seu nome Takum Kamaiur e
o precedente cacique da tribo. Alto Xingu,
Mato Grosso, Brasil, 2005 (acima).
Preparao da jovem ndia para o estgio
fnal da cerimnia Amuricum (festa das
mulheres) na tribo Kamaiur. Alto Xingu,
Mato Grosso, Brasil, 2005 (ao lado).
Pgina ao lado
Lago na cratera do vulco Bisoke, no Parque
de Virunga. Quase toda a superfcie do topo
dessa montanha coberta por uma planta
conhecida como Senecio gigante. Fronteira
entre Ruanda e a Repblica Democrtica do
Congo, 2004.
F
O
T
O
S
:
S
E
B
A
S
T
I
O
S
A
L
G
A
D
O
/
A
M
A
Z
O
N
A
S
I
M
A
G
E
S
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
S
E
B
A
S
T
I
O
S
A
L
G
A
D
O
41
PLANETA TERRA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
GENESIS
Esse projeto o fruto de refexo sobre o nosso Planeta
que est em perigo de morte. O uso no cotidiano da energia
nuclear, sem que te nhamos a soluo para o lixo e os efeitos
secundrios, a utilizao abusiva de produtos qumicos que
levam ao envenenamento dos solos e das guas, adicionados
ao excesso de gs carbnico fabricado pelas indstrias e
destruio das forestas tropicais, comprometem inexora-
velmente a sade da estratosfera e reduzem a fotossntese
que fabrica o oxignio, essencial nossa vida. A prpria
existncia do ser humano est em perigo.
Somente em zonas no exploradas poderemos
encontrar a chave da nossa origem como espcie e a
biodiversidade quase intacta. O objetivo desse trabalho
tentar mostrar o mais longe possvel a origem do
nosso Planeta: o ar, a gua e o fogo que lhe deram vida,
os animais que resistiram domesticao e continuam
selvagens, as tribos humanas que ainda vivem em estado
prstino. Por isso, foi intitulado GENESIS . Foi prevista
uma durao de oito anos para explorar o mundo e mos-
trar a face virgem e pura da natureza e da humanidade.
Essas imagens aqui expostas so o produto dos dois
primeiros anos de trabalho.
Llia Wanick Salgado (Diretora da Amazonas Images)
S
E
B
A
S
T
I
O
S
A
L
G
A
D
O
/
A
M
A
Z
O
N
A
S
I
M
A
G
E
S
P
L
A
N
E
T
A
T
E
R
R
A
AMBIENTES
42 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
M
Agricultura, silvicultura e pesca so responsveis por um a cada dois empregos em todo o mundo e sete
de cada dez empregos na frica Subsaariana, leste da sia e do Pacfco. Para um quarto do mundo, cultivo,
madeira e peixe ainda contribuem mais para a economia do que bens industriais.
M
Aproximadamente dois teros das terras usadas para a agricultura foram degradadas nos ltimos 50
anos por motivos como eroso, salinizao do solo, poluio e degradao biolgica. Dessas terras, 40%
foram seriamente danifcadas.
M
O processo de desertifcao avana razo de 60 mil quilmetros quadrados por ano. J atinge 2 bilhes
de hectares (20 milhes de km2) e degradou 15% das terras agrcolas (5,5 milhes de km2).
M
Um relatrio elaborado pelo Centro Hadley para o Prognstico e as Pesquisas sobre o Clima, vinculado ao Escritrio
Meteorolgico do Reino Unido, indica que aproximadamente um tero do mundo ser deserto em 2100.
M
1,7 bilho de pessoas no mundo no tm acesso gua de boa qualidade.
M
5 milhes de pessoas morrem a cada ano por beber gua poluda e viver em condies sanitrias inadequadas.
Alm disso, doenas como diarria e esquistossomose atingem 50% da populao de pases subdesenvolvidos.
M
12,5% das espcies de plantas conhecidas esto ameaadas.
M
Existem hoje no mundo 2,5 bilhes de pessoas sem acesso a formas adequadas de energia e a demanda mundial
cresce 2,5% ao ano. Se todas forem atendidas nos formatos atuais, as emisses de gases que intensifcam o efeito
estufa podero crescer muito, pois hoje a matriz energtica baseia-se fundamentalmente no petrleo (45%), carvo
mineral (25%) e gs natural (16%), responsveis por grande parte da emisso desses poluentes.
M
52% da populao rural mais pobre do mundo possui terras muito pequenas para o prprio sustento ou
simplesmente no possui terras.
M
As forestas cobrem em torno de 25% da superfcie terrestre, sem considerar a Groenlndia e a Antrtica.
M
Existem aproximadamente 5 mil espcies de peixes ainda no-descritas nos mares e oceanos do Planeta.
M
A populao mundial segue crescendo rapidamente, em uma razo de 76 milhes de pessoas por ano.
M
Em 2007, pela primeira vez na histria mundial, o nmero de habitantes das zonas urbanas ultrapassou
o de zonas rurais no Planeta.
M
Uma mulher morre por minuto, no mundo, vtima de complicaes obsttricas. Segundo a ONU, para
cada 1 milho de dlares no investidos em programas de planejamento familiar, registram-se: 360 mil
gestaes indesejadas; 150 mil abortos em condies precrias; 800 mortes maternas; 11 mil mortes de
crianas menores de 1 ano e 14 mil mortes de crianas menores de 5 anos.
M
Em 1960, havia 79 milhes de imigrantes internacionais. Em 2000, esse nmero subiu para 175 milhes
(1 imigrante em cada 35 pessoas).
VOC SABIA?
Concentrao de riquezas e pobreza
O cenrio de degradao ambiental do Planeta e
urbanizao desenfreada no so as nicas causas da baixa
qualidade de vida em muitas regies, principalmente urba-
nas: a concentrao de riquezas tambm muito acentuada,
impossibilitando uma vida digna maior parte do mundo.
Mais de um bilho de pessoas vivem em estado de extrema
pobreza no mundo. Em contrapartida, as 258 pessoas com
ativos superiores a 1 bilho de dlares cada detm, juntas,
o equivalente renda anual de 45% da humanidade. En-
quanto isso, 1 bilho de crianas (56%) sofrem pelo menos
um dos efeitos da pobreza (falta de gua potvel, falta de
saneamento bsico, moradia precria, falta de informao,
falta de alimentao ou condies de sade precrias).
P
L
A
N
E
T
A
T
E
R
R
A
43
AMBIENTES
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
ZOOM
CONSUMO E EXTINO GLOBALIZADOS: O CASO DO BACALHAU
BERNT RYDLAND OLSEN*
Diversas espcies de bacalhau foram includas na lista vermelha norueguesa de espcies em extino em 2006. E a
responsabilidade no apenas dos noruegueses, mas de consumidores em todos os cantos do mundo, inclusive no Brasil.
Cerca de 85% do bacalhau que vai para a mesa dos brasileiros importado da Noruega, o que corresponde a 10% de
todo o bacalhau pescado por l. A espcie mais apreciada o bacalhau-do-atlntico (Gadus mohua) j na lista global
de espcies em perigo do Oceano Atlntico -, at cinco vezes mais cara que outra espcie consumida pelos brasileiros, o
escamudo (Pollachius virens), ainda no includo na lista de espcies ameaadas. Enquanto o primeiro consumido pela
classe mdia-alta e em restaurantes de luxo, o segundo usado no famigerado bolinho de bacalhau.
O Brasil importou mais de 27 mil toneladas de bacalhau da Noruega em 2006, mais de 85% do consumo
nacional desse Pas. H 50% de chance dos brasileiros consumidores do peixe contriburem para a extino dos
estoques de uma das mais produtivas e exploradas reas de pesca do mundo, o Atlntico Norte.
A sustentabilidade dos estoques de bacalhau no est ameaada apenas pelo enorme consumo, mas tambm pelo
tipo de barco e material usados na pesca, muito nocivos ao meio ambiente. Grandes redes industriais fazem os barcos
gastarem cinco vezes mais combustvel, alm de sua malha capturar muito mais peixes jovens, ainda em fase de crescimento.
Duas outras espcies de bacalhau importadas pelo Brasil donzela (Molva molva) e zarbo (Brosme brosme), tambm
ameaadas vivem em grandes profundidades, e para captur-las so necessrias redes de arrasto que reviram o fundo
do mar. Essa prtica proibida em muitos pases - considerada uma das principais causas da crescente destruio dos
bancos de coral nos oceanos, fundamentais para a existncia de diversas outras espcies de peixe.
A grande demanda do mercado internacional no s estimula o uso das redes industriais na Noruega como
incentivaram um novo tipo de negcio, altamente rentvel: as fazendas de bacalhau, que em breve chegaro
tambm ao Brasil. preciso se ter em mente que esses criadouros muitas vezes de peixes geneticamente
modifcados para que cresam mais rpido, mais fortes
e mais carnudos - tambm representam uma grande
ameaa s espcies selvagens, uma vez que muitos
peixes escapam da fazenda e podem se sobressair
em relao aos outros peixes na disputa por comida e
parceiros, alterando o equilbrio ecolgico. Alm disso,
os peixes das fazendas comem outros peixes, ou seja,
demandam ainda mais pesca. Estima-se que sejam
necessrios 3 quilos de peixes selvagens para produzir
um quilo de peixe nesses criadouros.
O antes abundante bacalhau-do-atlntico dos ma-
res canadenses praticamente se esgotou na dcada de
1990, e talvez nunca se recupere. A Noruega e a Europa
esto prximas de cometerem o mesmo erro.
*Pesquisador do setor de vida marinha da ONG Amigos da Terra da Noruega
VOC SABIA?
M
Para abastecer o mercado internacional
de salmo, outro peixe muito apreciado mun-
dialmente, os criadouros dessa espcie ne-
cessitam de 2 a 3 kg de peixes selvagens para
alimentar e produzir apenas 1 kg de salmo.
Alm disso, 50% dos alimentos dados aos
salmes de fazenda so ingredientes vege-
tais, incluindo a soja, importada do Brasil e
de outros pases da Amrica Latina.
VEJA TAMBM Pesca (pg. 319).
P
L
A
N
E
T
A
T
E
R
R
A
AMBIENTES
44 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Alm disso, se a mdia do padro de consumo dos
pases industrializados fosse estendida a todos os habi-
tantes da Terra, seriam necessrios mais dois planetas
para sustentar todo mundo. A cada ano, mais de 10
bilhes de toneladas de materiais (recursos naturais) en-
tram na economia global, mas apenas 20% da populao
do mundo responsvel por cerca de 80% do consumo
anual de energia e recursos, sendo tambm responsvel
por 80% da poluio, incluindo os processos que geram
riscos globais, como o aquecimento do Planeta.
A degradao do meio ambiente afeta diretamente
a qualidade de vida de todos, porm tem impacto ime-
diato sobre aqueles que tm na pesca, nos bosques, nas
PEGADA ECOLGICA
O Planeta possui em torno de 11,4 bilhes de hectares de terra e mar produtivos, capazes de fornecer sus-
tento para a populao mundial. Se divididos pelos 6,5 bilhes de habitantes, deixam uma mdia de 1,8
hectare por pessoa. Mas a mdia nos EUA, por exemplo, chega a 9,6 hectares. Isso signifca que se todos os
habitantes da Terra tivessem o mesmo padro dos americanos, seriam necessrios em torno de 5 planetas
como o nosso para sustentar todo mundo. Para medir o impacto das naes sobre os recursos naturais do
Planeta, a pegada ecolgica de cada pas mostra o quanto de espao no territrio necessrio para suprir
os hbitos de consumo de cada habitante. A tabela abaixo indica qual a pegada de cada pas, o quanto est
disponvel de espao na prtica e o dfcit - que representa, quando negativo, quanto cada nao consome
a mais do que teria espao disponvel para produzir.
(em hectare/hab)
Pas Pegada Capacidade disponvel Dficit
ndia 0,8 0,4 -0,4
Estados Unidos 9,6 4,7 -4,8
Reino Unido 5,6 1,6 -4,0
Japo 4,4 0,7 -3,6
Rssia 4,4 6,9 2,5
Mxico 2,6 1,7 -0,9
Brasil 2,1 9,9 7,8
Frana 5,6 3,0 -2,6
Itlia 4,2 1,0 -3,1
Alemanha 4,5 1,7 -2,8
Fonte: Living Planet 2006, WWF
SAIBA MAIS Para saber qual a sua pegada ecolgica, acesse o site www.earthday.net/footprint/.
SAIBA MAIS Guia da pobreza (indicaes de
sites de organizaes governamentais, multilate-
rais e ONGs com fontes de informao e relatrios
sobre o estado da pobreza no mundo) (www.
worldbank.org/poverty/portuguese/webguide.
htm); Site Ofcial (brasileiro) da Rio+10 (www.
riomaisdez.gov.br); ndice de Desenvolvimento
Humano (www.pnud.org.br/idh); World Resour-
ces Institute WRI (www.wri.org).
VEJA TAMBM Cooperao Internacional (pg.
432); Acordos Internacionais (pg. 476).
P
L
A
N
E
T
A
T
E
R
R
A
45
AMBIENTES
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MUDAN A C L I MT I C A
Nas ltimas dcadas, a temperatura da Terra elevou-se 0,7 grau Celsius ( C). Em fevereiro de 2007, mais de 500
cientistas e representantes governamentais, reunidos para anlise do 4 Painel Intergovernamental de Mudanas
Climticas (IPCC) da Organizao das Naes Unidas (ONU), confrmaram formalmente o que vinham dizendo
desde o fnal da dcada de 1980: que a maior parte desse aumento se deve s aes humanas, especifcamente s
emisses de gases que intensifcam o efeito estufa. O relatrio apresentou dados de consenso entre os cientistas,
com mais de 90% de probabilidade de acontecer. Isso signifca que, se esses gases continuarem a serem lanados
na atmosfera no ritmo atual, at o fnal do sculo XXI a temperatura pode elevar-se entre 1,8 C na melhor das
hipteses - e 4 C. Para se ter uma idia do que esse aumento representa, a variao da temperatura mdia da
Terra, desde a ltima era glacial que terminou em torno de 10 mil anos atrs - at os dias de hoje, foi de cerca de
6 C. As conseqncias do aquecimento global podem ser desastrosas para o Planeta: secas e inundaes, tufes,
ciclones e maremotos podem se intensifcar signifcativamente; a desertifcao poder atingir um tero do mundo
e espcies animais e vegetais podero estar ameaadas. Os oceanos podero elevar-se de 18 cm a 58 cm (por causa
do aumento da temperatura dos oceanos e derretimento de geleiras) e inundar diversas regies costeiras, onde
vive grande parte da populao da Terra. Alm disso, mais de 30 pases localizados em ilhas podero desaparecer.
H indcios de que algumas dessas mudanas j esto acontecendo, com o aumento da temperatura nos plos.
Onze dos ltimos doze anos (1995 -2007) foram os mais quentes j registrados em toda a histria.
Desde a Conferncia das Naes Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel, realizada no Rio
de Janeiro em 1992, a Rio-92, a populao mundial vem sendo alertada para os nveis crticos de degradao
socioambiental sofrida pelo Planeta. Dez anos depois, porm, a Cpula Mundial de Desenvolvimento Susten-
tvel, a Rio+10, realizada em 2002, em Joanesburgo, frica do Sul, analisou os resultados das resolues
tomadas anteriormente e chegou concluso de que os avanos foram poucos. Por exemplo, na Conveno
sobre Mudanas Climticas, aprovada em 1992, os pases signatrios comprometeram-se a no ultrapassar os
nveis de emisso de gases que intensifcam o efeito estufa determinados em 1990. Mas j os aumentaram em
18,1%. O Protocolo de Quioto, aprovado em 1997
para regulamentar essa conveno, determina que
os pases industrializados responsveis por 60% do
dixido de carbono na atmosfera, principal causador
do aquecimento global - reduzam suas emisses,
no conjunto, em 5,2% at 2012. Os Estados Unidos,
responsveis por 25% desses poluentes que esto na
atmosfera, recusam-se a ratifc-lo.
SAIBA MAIS Greenpeace (www.greenpeace.org.
br/clima); Relatrio do Painel Intergovernamental de
Mudanas Climticas (IPCC) verso em Portugus
(www.ecolatina.com.br/pdf/IPCC-COMPLETO.pdf).
VEJA TAMBM Mudana Climtica Global (pg.
358) .
VOC SABIA?
M
Desde 2003, diversas catstrofes natu-
rais estiveram relacionadas gua: o fura-
co Katrina, que devastou Nova Orleans,
nos Estado Unidos; grandes enchentes no
leste europeu e secas drsticas em alguns
lugares da frica e Europa, alm da grande
seca na Amaznia em 2005. Estudos, inclu-
sive o Relatrio do IPCC, mostram que esses
desastres esto relacionados s mudanas
nos ciclos naturais da Terra, entre elas o
aquecimento global.
P
L
A
N
E
T
A
T
E
R
R
A
AMBIENTES
46 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
florestas e na agricultura de pequena escala suas fontes
de sobrevivncia fsica e cultural, como as populaes
tradicionais e outras pessoas que vivem no meio rural.
Essas populaes so estimadas em 20% da populao
mundial (mais de 1,3 bilhes de pessoas) (ver Popula-
es Tradicionais, pg. 223; Povos Indgenas, pg.
226; Quilombolas, pg. 234).
Alternativas
Para reverter o acelerado processo de degradao
socioambiental, governos, empresas e cidados podem
atuar em conjunto. Cada um pode contribuir de alguma
forma para mudar os padres de desenvolvimento e con-
sumo que se mostraram nocivos ao Planeta at agora.
As agncias oficiais tm mais informao do que
em qualquer outra poca sobre os avanos da cincia e
CARTA DA TERRA
A Carta da Terra um documento global que estabelece compromissos dos pases com o desenvolvimento
sustentvel e a preservao do Planeta, concebida para servir como um Cdigo tico Planetrio. O texto da Carta
foi produzido com a participao de 100 mil pessoas de 46 naes, inspirado em uma variedade de fontes, como
a ecologia; as tradies religiosas e flosfcas do mundo; a literatura sobre tica global; o meio ambiente e o
desenvolvimento; a experincia prtica dos povos que vivem de maneira sustentada, como os povos indgenas;
alm das declaraes e dos tratados inter-governamentais e no-governamentais relevantes. Sua elaborao teve
incio na Eco-92 e, em 2000, seu contedo foi aprovado e adotado como referncia pela Unesco.
Milhares de organizaes no-governamentais, cidades e povos ao redor do mundo deram seu aval Carta da
Terra e se encontram trabalhando na implementao de seus princpios. No Brasil, o Ministrio do Meio Ambiente
divulga e utiliza a Carta da Terra h cinco anos como guia do programa Agenda 21 e tambm como referncia
para as conferncias nacionais de meio ambiente (ver Conferncia Nacional de Meio Ambiente, pg. 494;
Agenda 21, pg. 497).
Entre os valores que se afrmam na Carta da Terra, esto: respeito ao Planeta e sua existncia; a proteo e
a restaurao da diversidade, da integridade e da beleza dos ecossistemas; a produo, o consumo e a reproduo
sustentveis; respeito aos direitos humanos, incluindo o direito a um meio ambiente preservado; a erradicao da
pobreza; a paz e a soluo no violenta dos confitos; a distribuio eqitativa dos recursos da Terra; a participao
democrtica nos processos de deciso; a igualdade de gnero; a responsabilidade e a transparncia nos processos
administrativos; a promoo e aplicao dos conhecimentos e tecnologias que facilitam o cuidado com a Terra;
a educao universal para uma vida sustentada; sentido da responsabilidade compartilhada, pelo bem-estar da
comunidade da Terra e das geraes futuras.
SAIBA MAIS Carta da Terra (www.cartadaterra.org).
tecnologia, dispondo de imagens de satlite, controle de
qualidade da gua e do ar, informaes demogrficas etc.
Os governos podem usar o acesso a essas informaes
para tomar decises sobre o uso de ecossistemas, assim
como para a proteo e recuperao de biomas (ver
Cincia e Tecnologia, pg. 423).
Indstrias e empresas podem desenvolver polticas
de respeito ao ecossistema onde atuam. Uma alternativa
poderia ser a disseminao de dados sobre os aspectos
ambientais de seus produtos e servios, para que o
consumidor possa saber o que lhe est sendo oferecido
e ter o direito de escolher. Os consumidores podem
verificar as informaes sobre os produtos que compram
e escolher aqueles de menor impacto ecolgico e mais
respeito aos direitos sociais. Universidades, grupos
socioambientalistas e a sociedade civil podem ajudar
P
L
A
N
E
T
A
T
E
R
R
A
47
AMBIENTES
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
se utilizam de trabalho escravo (ver A luta contra o
trabalho escravo, pg. 436).
Os governos tambm devem investir na difuso
de informao e na educao, bem como adoo de
polticas pblicas que favoream o desenvolvimento
sustentvel. A adoo de uma poltica de consumo
responsvel pelo poder pblico, atravs de compras
verdes e racionalizao de consumo, um dos maiores
propulsores do desenvolvimento de produtos e servios
ambientalmente sustentveis, graas ao volume de
recursos que movimenta. Em qualquer lugar do Planeta,
so os governos nacionais ou locais que impulsionam a
construo civil, a produo de alimentos e transportes,
entre outros setores. Somente na Europa, so gastos anu-
almente um trilho de euros na aquisio de produtos e
servios pelo poder pblico, entre os quais 2,8 milhes
de computadores por ano. Alm disso, uma populao
bem informada e consciente pode exercer a cidadania de
forma a melhorar o ambiente em que vive. O mesmo vale
para indstrias e empresas: preciso avaliar o modelo de
desenvolvimento adotado at agora e optar por alterna-
tivas que melhorem a relao com o Planeta.
COMO POSSO AJUDAR?
Cidados pelo mundo todo devem buscar in-
formaes sobre as condies dos ambientes que
os circundam para exercer a cidadania de forma
mais consciente. Separar o lixo e encaminh-lo
para a reciclagem, por exemplo, pode ser uma
maneira de ajudar a acabar com os lixes urbanos
que tanto poluem as cidades e o meio ambiente.
So medidas preventivas, assim como economizar
gua e energia eltrica. O cidado pode tambm
fscalizar as aes governamentais e pressionar
o poder pblico para que desenvolva sempre
alternativas sustentveis para seus projetos.
VEJA TAMBM Energia no Brasil e no Mundo
(pg. 340); Lixo (pg 398).
CONSULTOR: WASHINGTON NOVAES
Jornalista
a disponibilizar informaes de conscientizao, como,
por exemplo, divulgando listas de produtos que possuam
substncias txicas ao ser humano e ao meio ambiente,
como pesticidas, ou ainda denunciando empresas que
A diminuio da calota polar rtica em 20% nos ltimos 30 anos, reduziu o territrio de caa dos ursos-polares.
P
A
L
H
E
R
M
A
N
S
E
N
/
G
E
T
T
Y
I
M
A
G
E
S
A
M
R
I
C
A
L
A
T
I
N
A
48 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
AMRICA LATINA
ANTONIO CARLOS ROBERT MORAES*
A Amrica Latina o resultado da colonizao europia no Novo Mundo e foi assentada na
subordinao de populaes locais, na apropriao de espaos e explorao de recursos naturais,
gerando degradao ambiental e um dos maiores ndices de concentrao de renda do Planeta
*Gegrafo e socilogo, professor do Departamento de Geografa da Faculdade de Filosofa,
Letras e Cincias Humanas da USP
Na expanso martima iniciada no sculo XV, os agentes
das monarquias ibricas encontram terras desconhecidas
leste do Oceano Atlntico. Cristvo Colombo, no fnal do
citado sculo, acredita haver chegado sia, identifcando
as Antilhas com o Japo (a Cipango, descrita por Marco Plo).
Outros crem tratar-se da quarta parte do mundo, mencio-
nada na Sntese Geogrfca de Ptolomeu e no localizada no
ecmeno europeu da poca. Alguns falam das ilhas afortu-
nadas, fguras do imaginrio geogrfco medieval. Amrico
Vespcio, em correspondncia a Lorenzo de Mdici, afrma
ser um Novo Mundo, alcunha que a cartografa seiscentista
divulga at consolidar o nome do autor da missiva.
A apropriao europia das novas terras cria a Amrica,
na dominao dos espaos antes desconhecidos. A busca
de riquezas anima tal processo e a descoberta dos tesouros
asteca e inca aceleram os empreendimentos coloniais. Nos
quais tambm se lanam outras Coroas europias, alm das
de Portugal e Espanha. Tem-se, portanto, uma relao entre
sociedades que se expandem (movidas pelo incremento
de seus prprios circuitos comerciais), e os espaos onde
ocorrem tais expanses (em si bastante diferenciados,
como se ver em seguida). A esse processo, denomina-se
colonizao. Uma adio de terras e recursos ao patrimnio
dos colonizadores, agora tornados metrpoles.
A Amrica atual um resultado da colonizao europia
do Novo Mundo, possuindo assim uma formao colonial,
isto , assentada na expanso territorial, na invaso que
traz de bero o signo da conquista. Esta manifesta-se como
subordinao de populaes, apropriao de espaos e ex-
plorao de recursos. Um padro ao mesmo tempo extensivo
Muro inca mostra a tcnica apurada de construo e o encaixe das pedras. Cuzco, Peru, 2007.
A
N
D
R
R
I
C
A
R
D
O
A
M
R
I
C
A
L
A
T
I
N
A
49 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
AMRICA LATINA
NO CONFUNDA AS AMRICAS
M
A maior poro da superfcie terrestre recoberta por mares e oceanos. As grandes massas de terras
emersas recebem a denominao de continentes. Para Carl Ritter, um dos pais da geografa moderna, os
continentes representam as grandes individualidades terrestres. A Amrica um continente que possui grande
individualidade, pois no se relaciona por terra com nenhum dos demais continentes.
M
O continente americano pode ser subdividido em pores diferenciadas por distintos critrios. Em termos
de posio geogrfca, podemos falar da Amrica do Norte, Amrica Central e Amrica do Sul.
M
Em termos da colonizao, podemos falar em Amrica Saxnica (de colonizao inglesa) e em Amrica
Latina (de colonizao predominantemente ibrica).
M
O Caribe um conjunto de ilhas prximas ao continente americano (na direo da Amrica Central) que
conheceram ondas colonizadoras diferenciadas (espanhola, francesa e inglesa).
L
A
B
O
R
A
T
R
I
O
D
E
G
E
O
P
R
O
C
E
S
S
A
M
E
N
T
O
D
O
I
N
S
T
I
T
U
T
O
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
,
2
0
0
4
.
A
M
R
I
C
A
L
A
T
I
N
A
50 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
OS BLOCOS REGIONAIS DA AMRICA LATINA
Conhea alguns dos blocos regionais em vigor ou em negociao envolvendo pases da Amrica
Latina:
M
Mercosul Criado em 1991, com o Tratado de Assuno, o Mercosul um projeto de integrao econmica
entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, cujo objetivo chegar a criao de um Mercado Comum entre
estes pases. Em 2006, a Venezuela protocolou um pedido de adeso do pas ao bloco. No entanto, at julho
de 2007, a solicitao ainda no tinha sido aceita.
M
Alca Idealizada pelos Estados Unidos, a rea de Livre Comrcio das Amricas (Alca) prev a iseno de
tarifas alfandegrias entre 34 pases das Amricas do Sul, Central e do Norte (apenas Cuba fcaria de fora).
Com negociaes difceis, a Alca ainda no tem previso de entrar em vigor.
M
Alba A Alternativa Bolivariana para a Amrica Latina e Caribe (Alba) uma proposta de integrao entre
pases latino-americanos e caribenhos cuja nfase a luta contra a pobreza e a excluso social. Articulada
pela Venezuela, a Alba se prope a ser uma alternativa Alca.
M
Tratado de Livre Comrcio (TLC) Paralelamente Alca, os Estados Unidos vm negociando tratados
de livre comrcio com diversos pases da Amrica do Sul e Central, isoladamente. Peru, Colmbia e Panam j
assinaram os acordos e at julho de 2007 ainda aguardavam aprovao fnal do Congresso norte-americano.
Esses Tratados de Livre Comrcio incluem interesses como patentes, direitos de autoria, bancos, seguros,
telecomunicaes, franquias, servios de educao e sade, entre outros.
M
Comunidade Andina Foi estabelecida em 1996 como sucessora do Grupo Andino, que por sua vez
nasceu no Acordo de Cartagena, de 1969, tambm conhecido como Pacto Andino. Hoje, Bolvia, Colmbia,
Equador e Peru fazem parte da Comunidade, cujo objetivo fortalecer a integrao regional entre esses pases,
por meio da cooperao econmica e social. O Chile foi um dos membros fundadores do Pacto Andino, mas
se retirou do grupo em 1976.
M
Tratado de Cooperao Amaznica Firmado em 1978, o Tratado de Cooperao Amaznica um
instrumento multilateral para promover a cooperao entre os pases amaznicos Brasil, Bolvia, Colmbia,
Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela em favor do desenvolvimento sustentvel na regio.
(em termos de espao) e intensivo (no que toca aos recursos)
marca o movimento de conformao dos territrios coloniais
americanos. O trabalho compulsrio emerge como um trao
em comum dos diversos estabelecimentos europeus na
Amrica, aproximando as orientaes das vrias geopolticas
metropolitanas.
Acumulao e lucratividade
Os espaos defrontados pelo colonizador so muito
diferenciados entre si, quer nas condies dos meios na-
turais, quer no potencial de riqueza imediata aproprivel,
quer nos quadros demogrfcos existentes. Em certas reas,
os europeus se defrontam com sociedades organizadas em
complexos sistemas produtivos, com densidades demo-
grfcas similares s zonas mais populosas da Europa. Em
outras, os efetivos populacionais so exguos e repartidos
em pequenas comunidades nmades dispersas em espaos
de grande originalidade natural. Em toda parte, o vetor da
conquista colonial embasa-se na lucratividade do empre-
endimento. O horizonte de acumulao supera qualquer
obstculo defrontado, como bem demonstra a minerao
em grandes altitudes na cordilheira andina.
A apropriao dos recursos americanos comanda o
processo colonizador, num contexto no qual as prprias po-
pulaes autctones so quantifcadas como riqueza natural.
Onde a populao indgena escassa, a migrao forada
A
M
R
I
C
A
L
A
T
I
N
A
51 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
A Amrica Latina constitui parte da periferia da
economia do mundo capitalista, que conforme as
alteraes ocorridas no centro do sistema (Europa e
depois EUA) muda suas funes na acumulao global.
Assim, pode-se identifcar diferentes papis para os
pases perifricos ao longo da histria, sendo que s
novas funes agregam-se as antigas, sem elimin-las
por completo, a saber:
M Fornecimento de produtos tropicais, inexistentes
nos pases centrais, ou de alto valor (como os metais
preciosos), retirados por mtodos extrativos simples
(no passado) ou de alta complexidade tcnica (como
a atual minerao);
M Mercado para produtos europeus (ou de outras
partes do centro, posteriormente), funo que se
alarga aps a Revoluo industrial no fm do sculo
XVIII, que implica na adoo de escalas de produo
muito maiores;
M Mercado para capitais produtivos excedentes
no centro, notadamente mquinas industriais
que so distribudas pelo mundo no processo de
industrializao tardia das periferias. Trata-se da
expanso mundializada das empresas chamadas
transnacionais que se instalam em lugares eleitos da
periferia, com maior velocidade partir da Segunda
Guerra Mundial;
M Mercado para objetos tcnicos de alto valor
agregado, num quadro onde a instalao de ferrovias
e outras infra-estruturas aparecem como os produtos
de referncia. Funo associada chamada Segunda
Revoluo Industrial do fnal do sculo XIX;
M Mercado para capitais fnanceiros que encontram
nos pases perifricos taxas de rentabilidade muito
maiores que as existentes no centro. Tal processo de
globalizao fnanceira tem por mecanismo bsico
a dvida externa.
Todas estas funes perifricas so realizadas at a
atualidade pelos vrios pases da Amrica Latina, sendo
o patrimnio natural contido em seus territrios uma
grande reserva de valor (agora revalorizada enquanto
bancos biogenticos). A independncia desses pases,
ao longo do sculo XIX, no quebrou portanto as
relaes de subordinao que marcam o subconti-
nente desde o incio da colonizao europia. E, at
hoje, vive-se uma posio estrutural de dependncia
externa e de contnua expropriao de riquezas, obje-
tivada por mecanismos de troca bastante desiguais.
A dependncia fnanceira contempornea refete a
condio perifrica.
CENTRO E PERIFERIA
de africanos vem preencher com outros braos escravos a
demanda dos aparatos produtivos. O trabalho , assim, um
fator central nos assentamentos coloniais, pois representa
a mediao entre o colonizador e os recursos. Seu controle
constitui o elemento estruturador das sociedades criadas na
colonizao europia do Novo Mundo: uma das periferias
geradas na formao da economia do mundo capitalista.
Alm dos metais preciosos (um poderoso vetor de
ocupao do espao), atraem a iniciativa colonizadora
as condies naturais e os produtos da natureza no
encontrveis com facilidade em solo europeu ou em suas
imediaes. Nesse sentido, a colonizao manifesta-se
como sinnimo de produo de artigos tropicais, seja
por meio do extrativismo (intensamente praticado), seja
La Paz, Bolvia, 2007.
B
E
T
O
R
I
C
A
R
D
O
/
I
S
A
A
M
R
I
C
A
L
A
T
I
N
A
52 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
atravs da atividade agrcola: o acar, o tabaco, o algodo,
o cacau, entre outros. E a forma produtiva mais rentvel
aquela realizada em grandes propriedades com o uso
do trabalho compulsrio (escravo ou servil). Tal forma
expressa o padro de ocupao do espao predominante
nos territrios coloniais (notadamente nas reas tropicais
da Amrica).
O crescimento dessas estruturas econmicas se faz
de modo extensivo, com a incorporao ininterrupta de
novas terras, seja para ampliar a produo, seja para repor
os recursos explorados de modo intenso at a exausto.
Tal processo se reproduz em vrias partes do continente
americano ao longo de trs sculos de colonizao, que
criam grandes anexos territoriais ultramarinos para as
economias dos Estados europeus ocidentais. O grosso das
riquezas a produzidas drenado para a Europa, incorporan-
do-se ao cabedal fnanceiro dos pases centrais do sistema
capitalista. Lucros das plantations, do trfco de escravos e
VOC SABIA?
M
Os 34 pases latino-americanos (todos os pases do Mxico para baixo, com as ilhas do Caribe includas)
somam mais de 550 milhes de pessoas (em torno de 9% da populao do globo), concentram dois teros das
forestas tropicais do mundo, a maior reserva de gua doce do Planeta e a maior biodiversidade. Porm, o
crescimento urbano desordenado uma ameaa a esse patrimnio natural (ver Urbanizao, pg. 380).
M
A pobreza e a desigualdade na Amrica Latina apresentam importantes caractersticas relacionadas ao
preconceito racial e tnico de origem histrica. As razes desse processo vm desde os perodos coloniais,
quando a demanda de mo-de-obra dos colonizadores europeus foi atendida por meio da opresso aos
indgenas americanos ou pela importao em larga escala de milhes de escravos africanos. Dados escla-
recem o tratamento, por exemplo, impingido aos povos americanos que estavam aqui quando os europeus
chegaram: em 1570, as Amricas eram povoadas quase em sua totalidade por indgenas, mas em 1825,
quase 300 anos depois, 98% dos EUA e Canad foram considerados no-ndios. No Brasil, os ndios somavam
mais de mil povos e alguns milhes de pessoas quando os portugueses aqui chegaram. Hoje, a populao de
origem nativa e com identidades especfcas soma 480 mil indivduos 0,2% da populao brasileira (ver
Povos Indgenas, pg.226).
M
O programa Amrica Latina e Caribe sem Fome 2025, lanado pela FAO em outubro de 2006, tem como
principal meta o fortalecimento da agricultura familiar. Os pequenos representam a maior parte dos pro-
dutores agrcolas do mundo, mas enfrentam muitos obstculos fora de seu controle, como falta de crdito,
posse insegura de terra, sistema de transporte precrio e relaes pouco desenvolvidas com o mercado (ver
Agricultura Sustentvel, pg. 414).
M
A Amrica do Sul e o Caribe tiveram avanos signifcativos no combate fome. O nmero de pessoas
passando fome na regio caiu de 59 milhes no comeo da dcada de 1990 para 52 milhes no perodo entre
2001 e 2003. Na Amrica Central, a evoluo do problema no foi to positiva, tanto no nmero de vtimas da
fome ou da desnutrio quanto na proporo dessas vtimas com a populao. Acesso insufciente terra e
gua, pouco crdito disponvel para a populao rural e o impacto das mudanas climticas na agricultura
tambm esto afetando a capacidade de naes mais pobres no combate fome, de acordo com a FAO.
M
O relatrio de 2007 da ONU sobre as Metas do Milnio (ver pg. 36) indica que, se os pases da Amrica
Latina e Caribe mantiverem a tendncia atual, vo cumprir 11 das 18 diretrizes analisadas, como a reduo
pela metade, entre 1990 e 2015, da proporo de pessoas que passa fome, da proporo de pessoas sem
acesso a gua potvel e da proporo de pessoas sem acesso a saneamento bsico.
A
M
R
I
C
A
L
A
T
I
N
A
53 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
UM P DE QU ?
COCA
NATALIA HERNNDEZ*
Coca o nome dado a duas espcies da famlia das
Eritroxilceas e cuja caracterstica peculiar possuir
o alcalide cocana. Vrias investigaes cientfcas
lhe atribuem um valor nutricional que supera as 52
espcies vegetais mais utilizadas como alimento na
Amrica Latina. A ingesto de 100 gramas de folhas
de coca supera a dieta diria de clcio, ferro, fsforo,
vitamina A, vitamina B2 e vitamina E recomendada
pela OMS para uma pessoa.
A folha de coca utilizada pelas civilizaes ind-
genas da Amrica do Sul h cerca de 5 mil anos. Seu
centro de origem a zona oriental dos Andes, abaixo
dos 2 mil metros de altitude, que hoje faz parte do
Peru e do Equador. Graas a relaes culturais, polticas
ou econmicas, seu uso se estendeu at o norte da
Argentina e do Chile, ao sul, at a Amrica Central, ao
norte, incluindo a regio amaznica.
O principal uso da coca pelas sociedades ind-
genas sul-americanas a mastigao de suas folhas
mescladas com um componente alcalino. Na regio
andina, se mascam as folhas inteiras e tostadas, s
quais se agrega, na boca, o cal, obtido de pedras que
contm clcio ou de conchas marinhas. Na Amaznia,
se consomem as folhas tostadas e pulverizadas, mes-
cladas com cinzas de folhas de embaba e mapati.
Essa prtica conhecida por diferentes nomes, como
picchar ou acullicar na Bolvia, chacchar no Peru e
mambear na Colmbia.
Para os ndios, a coca uma planta de origem
sagrada, que foi e continua sendo um elemento de
coeso social e de transmisso de conhecimento
tradicional de gerao em gerao. Sua mastigao
uma prtica masculina, geralmente no permitida a
mulheres em idade frtil, e associada a um conjunto
de normas relacionadas ao respeito e cuidado consigo
mesmo, com as plantas, os animais, com a famlia e a
comunidade.
A mastigao da folha de coca realizada atual-
mente por aproximadamente 120 grupos indgenas em
rituais cotidianos e, recentemente, polticos.
Sua importncia ritual se deve ao fato de que,
para os povos indgenas, o territrio um sistema
que depende da energia vital
distribuda entre todos os
seres de maneira equi-
librada. Quando os seres
humanos utilizam os
recursos naturais ou
afetam os locais sa-
grados de maneira
descontrolada,
desequilibram o
fuxo normal dessa
energia, acumulando-a
em si mesmos e causando enfermidades, confitos,
acidentes ou at a morte. A coca permite aos xams,
guardies do equilbrio energtico do territrio, ne-
gociar com os demais guardies durante cada poca
do ano o aproveitamento dos recursos naturais atravs
de danas, cantos, curas e rezas.
No cotidiano, o mambeo (preparao da coca)
facilita a transmisso do conhecimento tradicional
do mestre ao aprendiz, sua aplicao nos papis
tradicionais masculinos (caa, pesca, corte e queima)
e o cumprimento das restries alimentares indicadas
pelos xams. No mbito poltico, o mambeadero
ganhou importncia durante os ltimos 15 anos na
organizao interna e para o estabelecimento de
relaes com os no-ndios.
A coca na Amrica Latina um elemento vital para
a sobrevivncia e reproduo da diversidade cultural
dos povos indgenas, para a transmisso e aplicao
de seu conhecimento tradicional, para a conservao
e manejo adequado dos recursos naturais.
*Biloga da Fundao Gaia Amazonas
I
L
U
S
T
R
A
O
R
U
B
E
N
S
M
A
T
U
C
K
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
F
E
R
N
A
N
D
O
S
O
R
I
A
54
AMRICA LATINA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
FERNANDO SORIA A.
La Cultura Uru-chipaya
Sus races estn en los Urus, una de las culturas ms
antiguas en el continente americano. Originalmente eran
cazadores y pescadores, durante la vigencia del Imperio
de Tiwanacu fueron desalojados de su territorio original y
condenados a sobrevivir en la regin occidental del actual
departamento de Oruro (Bolivia). Esta opresin milenaria
no ha sido sufciente y los Uru Chipaya han logrado
mantener su identidad y hacen esfuerzos continuos para
conservar su patrimonio cultural.
Fernando Soria, nasceu em Cochabamba (1946),
des de 1986 fotgrafo profssional. Publicou vrios
livros de fotografa, entre os quais Bolivia: de las races al
futuro (1999) e La Paz: una aventura alucinante (2002).
Atualmente prepara um livro sobre a Amaznia.
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
F
E
R
N
A
N
D
O
S
O
R
I
A
55
AMRICA LATINA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
F
E
R
N
A
N
D
O
S
O
R
I
A
56
AMRICA LATINA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
F
E
R
N
A
N
D
O
S
O
R
I
A
57
AMRICA LATINA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
A
M
R
I
C
A
L
A
T
I
N
A
58 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
do comrcio trans-ocenico, tornam-se capital nos centros
metropolitanos, animando suas economias. Gestam a
Revoluo Industrial.
Estados americanos
A ruptura poltica destas sociedades coloniais com
suas metrpoles europias, a partir de fns do sculo XVIII,
comea a diferenciar internamente, com maior nfase, o
continente americano. Tal diferenciao exercita-se sobre
uma variedade anterior dada diretamente pelo predomnio
de um tipo de populao em cada regio colonial. Nesse sen-
tido, pode-se identifcar numa simplifcao esquemtica: a
Indo-Amrica, a Afro-Amrica e a Euro-Amrica, tendo claro
a convivncia dos diferentes tipos de povoadores em todas
as reas de colonizao.
Vale lembrar que toda a obra colonizadora se auto-
legitima como um movimento de redeno para os povos
e lugares coloniais. No incio, a evangelizao, alargando o
espao da Cristandade, aparece como mvel da expanso da
Europa. Em seguida, a idia de civilizao emerge, impondo
s mais longnquas paragens um modelo de sociedade civi-
lizada. a essa misso civilizatria que se remetem as elites
coloniais que comandam a quase totalidade dos processos
de emancipao poltica na Amrica. Os artfces dos proces-
sos de independncia se defnem como representantes da
Ilustrao em suas ptrias. As quais podem autonomamente
construir as novas nacionalidades americanas.
Contudo, os novos Estados mantm em muito as
estruturas socioeconmicas herdadas do perodo colonial.
Economias de exportao de produtos tropicais, assenta-
AMRICA LATINA EM DESENVOLVIMENTO
(DA REDAO)
A Amrica Latina e o Caribe atravessam atual-
mente uma conjuntura de elevado desenvolvimento.
A regio cresceu 5,6% em 2006, e espera-se que cresa
em torno de 5% em 2007 e 4,6% em 2008, de acordo
com estudo da Comisso Econmica para Amrica Lati-
na e Caribe (Cepal/ONU). Se a previso de crescimento
para 2008 se confrmar, a regio fnalizar seis anos de
crescimento consecutivo com um aumento do PIB per
capita regional (ou seja, toda a riqueza produzida por
esses pases divida pelo nmero total de habitantes da
regio) de 20,6%.
O panorama positivo na atividade econmica
permitiu uma melhora no mercado de trabalho. A taxa
de desemprego regional caiu de 9,1% em 2005 para
8,6% em 2006. A qualidade dos postos de trabalho
melhorou e aumentou o trabalho formal. A taxa de
infao regional tambm recuou: de 6,1% em 2005,
caiu para 5% em 2006. O Brasil foi o pas com a maior
queda nesse ndice (de 5,7% para 3%).
Outro aspecto destacado no estudo da Cepal a
diminuio da vulnerabilidade econmica dos pases
da regio, devido principalmente reduo do peso da
dvida externa tanto em relao ao PIB (de 26% a 22%)
como nas exportaes regionais (de 101% a 84%) e um
aumento de suas reservas de moeda estrangeira.
No entanto, nem todos os pases encontram-se
em situao to favorvel. Em comparao com as
naes da Amrica do Sul, os pases da Amrica Central
e grande parte do Caribe (exceto Trinidad e Tobago e
Suriname) tiveram uma evoluo menos positiva que
o restante, enfrentando alguns desequilbrios fscais e
maior vulnerabilidade externa. De acordo com a Cepal,
possvel manter-se otimista sobre o futuro da regio,
mas so necessrias mais polticas pblicas e fscais
para garantir que esse crescimento em mdio e longo
prazos continue de forma sustentvel.
SAIBA MAIS Estudo Econmico da Amrica Latina e
Caribe 2006-2007 (www.eclac.cl).
VEJA TAMBM Crescimento Econmico (pg.
433); Desenvolvimento Humano (pg. 435); De-
senvolvimento Sustentvel (pg. 439); Economia
Ecolgica (pg. 441).
A
M
R
I
C
A
L
A
T
I
N
A
59 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
das em grandes latifndios e implementadas por formas
compulsrias de trabalho (em alguns casos, como o do
Brasil, mantendo inclusive o escravismo). Tambm o padro
expansionista mantido, visto que todos estes novos pases
possuem vastos fundos territoriais ainda no explorados
ao longo do sculo XIX. E os projetos civilizatrios, agora
internalizados, voltam-se para estes sertes, repondo as
determinaes da conquista colonial como eixo estruturador
das sociedades nacionais.
A construo das nacionalidades, como fundamento
de legitimao dos Estados nacionais na Amrica, acentua
diferenciaes entre pases. Como bem aponta Darcy Ribeiro,
em alguns casos, o passado pr-colonial invocado para
justifcar soberanias (povos testemunhos); em outros casos,
busca-se legitimao por meio de tradies de origem dos
habitantes (povos transplantados); e h ainda situaes
onde a prpria mescla dos povoadores erigida como
fundamento da legitimidade (povos novos). Em meio a
tais processos identitrios, a raiz metropolitana vem cena:
emerge a Amrica Latina, em oposio aos discursos hisp-
nicos (de Bolvar) e pan-americanistas (de Monroe).
Trata-se de uma denominao francesa, voltada para
a identifcao da Amrica de colonizao ibrica (basica-
mente). Um conjunto que tem por contraponto imediato os
Estados Unidos e a colonizao anglo-saxnica. Contudo,
para alm de seu uso ideolgico original, tal agrupamento
adquire substncia por paralelismos histricos e similarida-
des socioeconmicas e culturais desenvolvidas ao longo dos
dois ltimos sculos. A condio perifrica, a modernidade
poltica incompleta e a industrializao tardia, entre outras
SAIBA MAIS Adital Notcias da Amrica La-
tina e Caribe (www.adital.com.br); Sader, Emir;
Jinkings, Ivana; Martins, Carlos Eduardo; Nobile,
Rodrigo (Orgs.). Latinoamericana Enciclopdia
Contempornea da Amrica Latina e do Caribe.
So Paulo: Boitempo e Laboratrio de Polticas
Pblicas da UERJ, 2006.
VEJA TAMBM Brasil (pg. 61); Fronteiras
(pg. 327).
La Paz, Bolvia, 2007.
B
E
T
O
R
I
C
A
R
D
O
/
I
S
A
A
M
R
I
C
A
L
A
T
I
N
A
60 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
A Amrica Latina e o Caribe esto diante de riscos cada vez maiores de serem atingidos por desastres naturais,
segundo o relatrio Up in Smoke? Latin America and the Caribbean A ameaa da mudana climtica para o
meio ambiente e desenvolvimento humano, divulgado por uma coalizo de 20 entidades internacionais, entre elas
Tearfund, Greenpeace e WWF. O estudo destaca que o clima latino-americano e caribenho est se tornando cada
vez mais imprevisvel e muito extremo e que a regio est mais vulnervel, pois os ecossistemas destrudos no
conseguem se adaptar a mudanas drsticas. O relatrio destacou que, em conseqncia disso, os esforos para
acabar com a pobreza e manter o sustento agrcola de milhes de pessoas podem estar ameaados.
Segundo a pesquisa, a temporada de furaces durante 2005 registrou 27 tormentas tropicais, 15 das quais
se transformaram em furaces. O mais devastador deles foi o Katrina, que provocou a morte de pelo menos mil
pessoas ao atingir o litoral sul dos Estados Unidos. Para 2006, as autoridades prognosticaram pelo menos 16
tormentas tropicais, quatro das quais poderiam tornar-se perigosos furaces.
O relatrio advertiu tambm para a escassez de gua potvel, principalmente porque o descongelamento
das geleiras andinas est afetando o fuxo dos rios e ameaa a possibilidade de conseguir gua potvel no futuro.
Alm disso, o desmatamento ilegal de grandes extenses de terra aumenta as emisses de dixido de carbono
na atmosfera, deixando que essas reas se inundem com mais facilidade.
Trs reas fundamentais devem ser melhoradas, segundo o documento: reverter e deter mais alteraes
nas mudanas climticas; analisar estratgias sobre como viver em um mundo onde as mudanas climticas no
podem ser detidas; e a necessidade, por parte dos pases, de criar um marco de desenvolvimento harmnico com
o meio ambiente, que seja igualitrio na repartio de recursos naturais.
SAIBA MAIS Up in Smoke? Amrica Latina e Caribe: a ameaa da mudana climtica para o meio ambien-
te e desenvolvimento humano (www.panda.org/about_wwf/what_we_do/climate_change).
VEJA TAMBM Mudana Climtica Global (pg. 358); O Brasil e a Mudana Climtica (pg. 365); O IPCC e
a Mudana Climtica (pg. 360); O Desafo do Sculo (pg. 373).
MUDAN A C L I MT I C A
caractersticas, aproximam os pases latino-americanos
num patamar comum, onde sobressaem na atualidade
as desigualdades sociais, a concentrao de renda e as
dvidas externas.
A presena em seus territrios de fundos territoriais
signifcativos outro elemento caracterizador dos pases
da Amrica Latina. Fundos cuja incorporao recoloca
em prtica estruturas herdadas da colonizao, como a
destruio veloz dos meios naturais e das populaes
tradicionais. Novamente, a conquista de espaos, animada
durante todo o sculo XX pelo rtulo modernizao, a
nova palavra que evoca a misso civilizatria. Implantar
a homogeneizao produtiva e excludente a meta de
instalao da economia perifrica moderna, requerida
e sempre ajustada pelos padres de acumulao na
escala internacional.
No mundo contemporneo globalizado, novos interes-
ses se associam s velhas funes da periferia. E a Amrica
Latina, fracionada nas ltimas dcadas pela criao de
blocos regionais no continente, tende a se diluir em novas
identidades geopolticas, entre estas a Alca (rea de Livre Co-
mrcio das Amricas), que busca repor a unidade continental
americana sob hegemonia dos Estados Unidos. Todavia, no
plano da estrutura das sociedades, a homogeneidade latino-
americana se mantm exatamente na condio perifrica e
na desigualdade social imperantes.
B
R
A
S
I
L
61 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
BRASIL
Grandioso em sua diversidade socioambiental, mas tambm nas desigualdades sociais
e ritmo de destruio do meio ambiente, o Brasil precisa resolver suas contradies
para garantir a qualidade de vida de sua populao
Pas de dimenses continentais, o Brasil possui uma das
biodiversidades mais ricas do Planeta, com 10% a 20%
das espcies catalogadas at agora. Tambm o Pas com
o maior fuxo superfcial de gua doce no mundo - cerca de
12% do total -, sol o ano todo e uma zona costeira de milhes
de quilmetros quadrados. O povo brasileiro compe um
grande mosaico de diversidade cultural: so imigrantes e seus
descendentes, povos indgenas, afro-brasileiros, quilombolas,
caiaras, entre outros tantos exemplos de especifcidades cul-
turais e modos de vida. A exuberncia socioambiental motivo
de orgulho dos brasileiros, que a elegem como diferencial de
outras naes, alm das belas paisagens, a cordialidade do
povo, seus costumes e cultura.
O Brasil, porm, no chegou ao sculo XXI como um dos
lugares megadiversos do Planeta por milagre. Isso aconteceu
porque prticas tradicionais compatveis com o ambiente,
adotadas por povos que habitam h muito a totalidade do
territrio, assim permitiram (ver Os Verdadeiros Campees
do Desmatamento, pg. 79). Mas o mesmo ser humano
que mostra ser possvel conviver em harmonia com a natureza,
tambm comanda a destruio e pe em risco, atravs dos
mtodos dominantes de produo, a possibilidade de melhorar
as condies de vida e o futuro do Pas.
Mesmo que as reas protegidas em unidades de
conservao integral representem cerca de 5,5% do ter-
ritrio brasileiro (ver reas Protegidas, pg. 261), os
ambientes esto em constante processo de degradao.
O desmatamento na Amaznia brasileira tem aumentado
continuamente desde 1991, em um ritmo varivel, mas
rpido: em 1995, houve um pico no desmatamento da
regio, considerado o maior da histria; entre 2003 e 2004,
foi registrado um novo recorde no ndice, dessa vez seguido
A
D
E
N
O
R
G
O
N
D
I
M
Nas guas do Rio Paraguassu, Cachoeira, Bahia: oua o som do adj para a Rainha das guas, Iemanj.
B
R
A
S
I
L
62 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
MAPA POLTICO E DE AMBIENTES DO BRASIL
de quedas em 2005 e 2006 . O Cerrado, que contm um tero
da biodiversidade brasileira, perde 30 mil quilmetros por
ano, ou 2,6 campos de futebol por minuto de cobertura
vegetal - um ritmo de devastao de 1,5% ao ano, superior
ao da Amaznia, e que, se mantido, pode acarretar no com-
pleto desaparecimento das paisagens naturais do Bioma
at 2030 . Da Mata Atlntica, sobram menos de 8%; na
Caatinga, 10% do solo est em processo de desertifcao;
o Pantanal enfrenta problemas graves; assim como a Zona
Costeira (destruio de mangues, poluio da gua, espcies
pesqueiras ameaadas etc.); e o Pampa, que sofre presso
com o avano de monoculturas agrcolas e forestais.
O avano da degradao, alm de comprometer a
biodiversidade, afeta tambm as populaes que vivem
nesses ambientes. Nas cidades, a qualidade de vida piora
cada vez mais com o agravamento da poluio do ar e
dos mananciais, do barulho, da falta de reas verdes. Os
povos que dependem de atividades de subsistncia ligadas
diretamente ao uso de recursos naturais, como pescadores e
ndios, cada vez mais enfrentam difculdades para sobreviver
de suas atividades tradicionais (em razo, por exemplo,
da poluio da gua, da minerao ilegal, da invaso de
reservas para atividades como a explorao madeireira,
dentre outras).
Laboratrio de Geoprocessamento do Instituto Socioambiental,
2004. Fonte: Mapa de Biomas do Brasil - Primeira Aproximao
- Escala 1:5.000.000, IBGE, 2004.
B
R
A
S
I
L
63 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
O BRASIL MAIS RURAL DO QUE SE IMAGINA
JOS ELI DA VEIGA*
No existe pas com mais cidades do que o Brasil.
Eram 5.507 quando houve o ltimo Censo Demogrfco
(2000). A menor, Unio da Serra, no nordeste gacho,
tinha apenas 18 habitantes. E no uma exceo: so
90 as cidades com menos de 500 habitantes. Mas,
lugar com to poucos moradores poderia ser mesmo
considerado uma cidade?
No mundo todo no, mas no Brasil os critrios de
defnio do que uma cidade so meramente admi-
nistrativos: toda sede de municpio considerada uma
cidade, independente da densidade demogrfca ou
outros critrios funcionais. Mesmo que s tenha quatro
casas, nas quais residem trs famlias de agricultores e
uma de madeireiro (como o caso de Unio da Serra,
citada acima). De um total de 5.507 sedes de municpio
existentes em 2000, havia 1.176 com menos de 2 mil
habitantes, 3.887 com menos de 10 mil, e 4.642 com
menos de 20 mil, todas com estatuto legal de cidade
idntico ao que atribudo aos ncleos que formam as
regies metropolitanas. E todas as pessoas que residem
em sedes, inclusive em nfmas sedes distritais, so
ofcialmente contadas como urbanas.
Em outras partes do mundo, no existe um nico
critrio para se defnir o que cidade e sim uma com-
binao de critrios estruturais e funcionais. Critrios
estruturais so, por exemplo, a localizao, o nmero
de habitantes, de eleitores, de moradias, ou, sobretudo,
a densidade demogrfca.
Vale lembrar que tambm no verdadeiro o critrio
que torna agropecuria sinnimo de rural e vice-versa;
assim, uma comunidade rural no necessariamente
agricultora. Critrio funcional a existncia de servios
indispensveis urbe. Um exemplo ilustrativo o caso de
Portugal, onde a lei determina que uma vila s possa ser
elevada categoria de cidade se, alm de contar com um
mnimo de 8 mil eleitores, tambm oferecer pelo menos
metade dos seguintes dez servios: 1) hospital com perma-
nncia; 2) farmcias; 3) corporao de bombeiros; 4) casa
de espetculos e centro cultural; 5) museu e biblioteca; 6)
instalaes de hotelaria; 7) estabelecimentos de ensino
preparatrio e secundrio; 8) estabelecimentos de ensino
pr-primrio e creches; 9) transportes pblicos, urbanos e
suburbanos; 10) parques e jardins pblicos. Se tomssemos
por base os critrios lusitanos, no Brasil existiriam, na
melhor das hipteses, umas 600 cidades.
Alm da questo da densidade demogrfica e
tambm pelo fato de ter ainda muitas reas intocadas
pelas artifcialidades do ambiente totalmente urbano,
o Brasil mais rural do que ofcialmente se calcula, se
considerarmos que h nveis intermedirios entre o
que campo e o que cidade. O que no negativo,
pois hoje em dia, nos pases de primeiro mundo, est
ocorrendo uma valorizao constante de tudo que se
distingue da artifcialidade urbana: paisagens silvestres
ou bem cultivadas, gua limpa, ar puro e mais silncio.
Sob esse ponto de vista, cai o mito de que ser rural ruim,
atrasado e sinnimo de misria. E depois da proliferao
de purgatrios em torno das aglomeraes urbanas,
impossvel continuar pensando que seja essa a soluo
para o desenvolvimento de um pas como o Brasil. Pelo
contrrio: as tendncias mundiais mostram que algumas
das principais vantagens competitivas do sculo XXI
dependero da fora de economias e ambientes rurais.
*Economista da FEA/USP
C
E
L
S
O
J
U
N
I
O
R
/
A
E
Vida rural na cidade de Guarulhos (SP), 1998.
B
R
A
S
I
L
64 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
JOS BONIFCIO DE ANDRADA E SILVA
(1763 1838)
Existem algumas fguras-chave no nascimento
da preocupao ambiental no Brasil. O chamado
patriarca da independncia do Pas, Jos Bonifcio,
foi um personagem dotado de grande lucidez e
conscincia quanto aos males produzidos pela des-
truio das forestas, eroso dos solos, extino de
espcies etc.
J em 1815, ele vinha desenvolvendo uma re-
flexo profunda sobre as interaes entre natureza
e sociedade: Se a navegao aviventa o comrcio e
a lavoura, no pode hav-los sem rios, no pode
haver rios sem fontes, no h fontes sem chuvas e
orvalhos, no h chuvas e orvalhos sem umidade, e
no h umidade sem matas. E mais, sem bastante
umidade no h prados, sem prados poucos ou ne-
nhuns gados, e sem gados nenhuma agricultura.
Assim tudo ligado na imensa cadeia do universo,
e os brbaros que cortam e quebram seus fuzis pe-
cam contra Deus e a humanidade, e so os prprios
autores dos seus males.
Trata-se de uma viso claramente ecolgica,
apesar da palavra ter sido inventada apenas em 1866.
Em 1823, logo depois da independncia, Bonifcio
enviou Assemblia Legislativa uma ampla proposta
de reforma social e econmica do Pas, destinada a
romper com a herana colonial e criar uma nao
digna desse nome. A base da proposta estava na
superao do escravismo. Mas a questo ambiental,
por assim dizer, constitua um outro elemento abso-
lutamente central.
Ele concluiu a proposta, de fato, com as seguin-
tes palavras: A natureza fez tudo a nosso favor, ns
porm pouco ou nada temos feito a favor da nature-
za. Nossas terras esto ermas, e as poucas que temos
roteado so mal cultivadas, porque o so por braos
indolentes e forados (...) Nossas preciosas matas
PERSONAGEM
JOS AUGUSTO PDUA*
*Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro
vo desaparecendo, vtimas
do fogo e do machado
destruidor, da ignorncia
e do egosmo. Nossos
montes e encostas vo-
se escal vando di ari a-
mente, e com o andar do
tempo faltaro as chu-
vas fecundantes
que favorecem a
vegetao e ali-
mentam nossas
fontes e rios,
sem o que o
nosso belo Brasil, em
menos de dois sculos, ficar redu-
zido aos paramos e desertos ridos da Lbia. Vir
ento este dia (dia terrvel e fatal) em que a ultraja-
da natureza se ache vingada de tantos erros e crimes
cometidos.
Vale lembrar que o texto de 1823! bem pro-
vvel que em nenhum lugar do Planeta, naquele
momento, tenha existido um outro pensador dotado
de uma preocupao to apocalptica com a destrui-
o do mundo natural.
Texto baseado no artigo Natureza e Projeto Nacional:
Nascimento do Ambientalismo Brasileiro (1820
1920), in Ambientalismo no Brasil Passado, Presen-
te e Futuro, Instituto Socioambiental e Secretaria do
Meio Ambiente de So Paulo, 1997.
SAIBA MAIS Pdua, Jos Augusto. Um Sopro de
Destruio: Pensamento Poltico e Crtica Ambien-
tal no Brasil Escravista; Rio de Janeiro; Jorge Zahar
Editor; 2002.
I
L
U
S
T
R
A
O
C
A
R
L
O
S
M
A
T
U
C
K
B
R
A
S
I
L
65 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
Apesar da abundncia da gua no territrio, sua
dis tribuio irregular, caracterizando regies melhores
abastecidas e regies com graves problemas de seca, como
algumas partes do Nordeste. Alm disso, a poltica de uso
desse recurso tem comprometido sua disponibilidade no
Brasil. Hoje, cerca de 40% de toda gua retirada no Brasil
desperdiada e a maior parte desse recurso vai para a
agricultura, cujo ndice de desperdcio na irrigao chega
a 60% (ver Disponibilidade e Distribuio, pg. 292).
Nas redes pblicas de distribuio de gua, o desperdcio
mdio de 40% do que sai das estaes de tratamento.
Nas bacias hidrogrfcas, a poluio est fora de controle
em vrios estados.
Na agricultura, prticas no sustentveis vm causando
danos irreversveis ao solo. O consumo de agrotxico cresceu
276% entre 1960 e 1991 e o uso de pesticidas para reas
plantadas cresceu 21,59% entre 1997 e 2000. S no Estado
de So Paulo, 4 dos 18 milhes de hectares de terra utiliz-
veis esto em estgio avanado de degradao .
A produo de alimentos no Pas tambm tem muitos
exemplos de insustentabilidade, entre eles prticas de
pecuria intensiva e extensiva, que tm provocado aumento
do desmatamento e contaminao das guas por efuentes
de criaes (bovina, suna e aves) e insumos qumicos
carregados pela eroso do solo. A produo de frutas fora
de poca tambm causa grande impacto ambiental, seja
pela energia usada nas estufas ou pela intensifcao dos
transportes de longa distncia (que requer mais rodovias
e a pavimentao de trechos muitas vezes localizados em
reas forestais).
Mesmo com todos esses problemas, o rumo tomado
pelo Brasil e por outros pases em desenvolvimento conti-
nua similar ao caminho trilhado por pases desenvolvidos
no que diz respeito aos padres de produo e consumo.
Estudos mostraram que seriam necessrios mais dois ou trs
planetas de recursos para sustentar o padro de consumo
dos pases desenvolvidos, se ele fosse estendido para os
demais habitantes do mundo. Ao mesmo tempo, uma
pesquisa do Instituto de Estudos das Religies (Iser), sobre
o que o brasileiro pensa do meio ambiente, detectou que,
de 1992 a 2001, cresceu de 23% a 31% a porcentagem de
brasileiros que consideram que nossos hbitos de produo
e consumo precisam de grandes mudanas para conciliar o
desenvolvimento com a proteo socioambiental.
Ainda assim, outros dados da pesquisa mostram que
50% da populao no foi capaz de identifcar qualquer
problema ambiental no seu bairro. Na regio Centro-Oes-
te, por exemplo, onde a vegetao principal o Cerrado
considerado em estado crtico de degradao , 55% dos
entrevistados disseram no haver ali nenhum problema am-
biental. Uma das concluses da pesquisa que esta incapaci-
dade dos brasileiros de detectar problemas socioambientais
na prpria regio onde moram pode estar refetindo uma
situao estrutural ligada educao e que seria preciso
aumentar os esforos de informao para o grande pblico
sobre questes de meio ambiente e qualidade de vida. Dos
entrevistados, 52% afrmaram no ler jornais, fazendo da
televiso seu principal meio de informao (90%).
Em pesquisa mais recente, de 2007, o Ibope detectou
que quatro em cada cinco brasileiros esto muito preocupa-
Prosa & Verso
Moro, num pas tropical,
abenoado por Deus
E bonito por natureza...
mas que beleza!
(Jorge Benjor)
L
A
L
O
D
E
A
L
M
E
I
D
A
Ao lado, Cristo Redentor,
Baa de Guanabara (RJ).
B
R
A
S
I
L
66 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
REDES INDGENAS, REDES DO BRASIL
SERGIO LEITO*
O poeta Joo Cabral de Melo Neto defniu a rede
como a segunda pele do nordestino, tal o entrelaa-
mento entre um e outro. Citada pela primeira vez em
nossa histria pela clebre carta de Caminha, a rede
o testemunho mais palpvel da incorporao dos
hbitos e artefatos indgenas ao cotidiano de todos os
brasileiros e no apenas de nordestinos e nortistas,
sejam eles ricos ou pobres, brancos, pardos, amarelos
ou negros.
Ela est presente em casas, apartamentos, bolias
de caminhes, debaixo de rvores frondosas, nos
regates e recreios que varam os rios amaznicos, nos
centros de romarias e em todos os lugares onde se
faz necessrio dispor de um meio gil e barato para
abrigar um trabalhador cansado da lida, repousar casais
fatigados de amar, balanar a criana que teima em no
dormir, amainar a sofreguido do romeiro cheio de f
e sedento de graa e servir de ltimo envelope para o
corpo abandonado pela vida.
Para permitir to largo emprego e atender clien-
tela to distinta, a rede operou um milagre em termos
de combinao de tcnica e design. Ela praticamente
a mesma desde que os portugueses aqui baixaram,
mas incorporou elementos que, sem descaracterizar a
sua estrutura bsica, permitiram a cada um mold-la
e embelez-la a seu gosto, garantindo a perenidade
da sua aceitao. Indicadora mais certeira da nossa
diversidade, que se traduz numa enorme capacidade
de transformao e adaptao dos elementos que
o choque entre a cultura indgena e a ocidental nos
legou, a rede foi aprimorada para estar disponvel
em variadas verses, que lhe alteram, por exemplo,
*Advogado, diretor de polticas pblicas do Greenpeace no Brasil.
r.sergio.leitao@terra.com.br
E
D
U
A
R
D
O
V
I
V
E
I
R
O
S
D
E
C
A
S
T
R
O
(
1
9
8
7
)
Mulher Arawet, povo indgena do Mdio Xingu, fando algodo para tecer mais uma rede.
B
R
A
S
I
L
67 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
o tamanho, havendo modelos para recm-nascidos,
crianas, solteiros e casais.
Hoje a rede fabricada com os mais diferentes
materiais. Ao percorrer o Pas, vamos encontrar desde
a rede de fbra do tucum, apropriada para os vaqueiros
empoeirados em seus repousos no alpendre da casa
grande, rede de nylon. Esta que, armada no topo
das rvores, atende o soldado do Exrcito em suas
marchas pela selva, contrasta com a rede de folhas da
palmeira de buriti tranadas, que embalam os ndios
do Alto Xingu em suas malocas, e ainda com aquela
feita tradicionalmente em algodo moc, planta que
os ndios nos transmitiram sem a paga de um simples
agradecimento.
Contribuio
Seja ela tecida pelas mos hbeis e calosas de
artess indgenas, em teares manuais instalados
nos fundos de casas simples ou nos teares eltricos
fincados em galpes para dar conta da sua produo
em escala industrial, a rede personifica a necessidade
de adotarmos uma atitude de permanente reconhe-
cimento contribuio dos povos indgenas para a
formao da cultura brasileira, evitando a rotineira
canibalizao dos seus saberes. Com o intuito ainda
de embelez-la, ao seu desenho bsico acrescentou-
se atravs dos tempos a varanda, aquela moldura la-
teral que pode ser simples ou elaborada em franjas e
tranados rebuscados, representativos de paisagens
ou evocativos de desejos, como a de que a casa que
abriga aquela rede um lar, doce lar. Os cordes
dos punhos que a sustentam foram engrossados e
fiados em tecidos de fino trato. A parte de dentro do
seu carel lugar onde se ata a rede ao armador foi
revestido de placas de metal para maior segurana e
o chamado pano da rede, onde realmente repousa
a nossa ossatura, foi adornado com o uso do linho
ingls e da cor.
No Nordeste, a rede est em todos os lugares.
Atada e sempre vigilante para receber os seus usurios
na varanda e nos quartos, ou mesmo desatada em um
canto de armrio, disponvel para dar conta da parenta-
da que aparece sempre sem avisar. Por isso, o costume
sempre dispor de armadores de redes em todos os
aposentos da casa, mesmo na sala de estar, para abrigar
a todos quanto chegam. Para o nordestino, a rede um
bem de famlia, jia transmissvel por herana ou como
presente de casamento, a ensejar disputas renhidas
entre parentes por sua posse, por indicar o membro da
famlia merecedor de maior ou menor afeio.
A histria tem lhe reservado as mais diversas
misses. J serviu de veculo para o transporte de
fidalgos e sinhazinhas, e fez as
vezes de ambulncia, carregando
feridos de guerras e, ainda hoje,
enfermos nas regies mais remotas
do Brasil. A rede, que enfeita jardins
de inverno e sacadas na suas verses
em tecidos brocados e bordados em
ponto-cruz, tambm a cama dos
pobres, servindo de leito fresco nos
locais mais quentes do Pas.
Ela, que est presente na vida
e na morte de nossos povos, uma
espcie de fusquinha que nunca
vai sair de linha. Tem a cara dos
brasileiros e do Brasil.
A
N
T
N
I
O
G
A
U
D
R
I
O
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
(
2
0
0
4
)
Jogadores de futebol do Grmio de Coari (AM), num barco regional.
B
R
A
S
I
L
68 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
A IDENTIDADE BRASILEIRA ATRAVS DA MSICA
GUSTAVO PACHECO*
Pas de dimenses continentais, o Brasil tem uma msica altura do seu tamanho e da diversidade de seu
povo. Do marabaixo do Amap milonga dos pampas gachos, das bandas de pfanos do serto do Cariri at os
cantos dos ndios Ashaninka do Acre, aquilo que chamamos de msica brasileira na verdade um rico mosaico
formado por muitas msicas diferentes. Essas msicas refetem situaes socioculturais muito variadas e muitas
vezes tambm podem afetar e transformar essas mesmas situaes. Isso porque fazer msica no apenas fonte
de diverso e prazer esttico, mas uma atividade complexa que pode ter implicaes polticas e econmicas muito
importantes.
A identidade do Brasil e dos brasileiros passa pela msica. Nosso pertencimento a um lugar, a uma classe
social, a uma faixa etria e a grupos tnicos e religiosos muitas vezes se forma e se expressa atravs da msica que
gostamos de ouvir, tocar e danar. Como pas, encontramos em certos tipos de msica o samba, por exemplo
- smbolos poderosos de nossa identidade nacional.
Ao mesmo tempo, a msica representa um bem de grande valor comercial, que movimenta muito dinheiro,
gera empregos diretos e indiretos e um dos produtos brasileiros com maior penetrao internacional. Se a
globalizao pode gerar um interesse crescente pela singularidade e pela diferena, ento a msica com certeza
est entre aquilo que de melhor e mais interessante o Brasil pode oferecer ao mundo. Aqui est um dos maiores e
melhores acervos de instrumentistas, cantores, compositores e arranjadores de todo o mundo, dando vida a uma
variedade incomparvel de ritmos. Contraditoriamente, apenas uma pequena parcela da enorme diversidade mu-
sical brasileira pode ser ouvida no rdio, na TV ou nas lojas de discos (e no estamos falando apenas das chamadas
msicas tradicionais e folclricas, mas tambm da msica regional e independente, lanada por centenas de
pequenas gravadoras e selos de todo o Brasil).
Ao lado da msica criada por profssionais nos grandes centros urbanos e difundida nacionalmente atravs
dos meios de comunicao de massa, existe um universo em que o fazer musical est estreitamente associado ao
trabalho, religio e sociabilidade comunitria. a msica praticada no apenas por populaes tradicionais
povos indgenas, remanescentes de quilombos, caiaras etc. mas tambm por grande parte da populao
brasileira que vive no campo e na periferia das cidades.
sobretudo nesse universo que se pode verifcar uma relao mais prxima da msica com o meio ambiente,
que com freqncia fornece o contexto e o pretexto para o fazer musical, alm de inspirao constante para a
criao e tambm os materiais para a confeco artesanal de instrumentos. Justamente por isso, a msica ligada
vida comunitria a que mais sofre com o impacto da poluio, do desmatamento e da especulao imobiliria
e tambm com o discurso e a prtica ambientalistas, quando estes se opem ao modo tradicional de lidar com o
meio ambiente. O futuro da riqueza e diversidade da msica brasileira depende tambm de nossa capacidade de
reverter esse quadro e criar condies para que continuem existindo as muitas msicas brasileiras que circulam
por esse Brasil afora.
VEJA TAMBM Msica da Amaznia (pg. 105); Caatinga (pg. 116); Cerrado (pg. 130); Mata Atlntica
(pg. 151); Pampa (pg. 172); Pantanal (pg. 194); Zona Costeira (pg. 214).
*Msico e antroplogo
B
R
A
S
I
L
69 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
dos com os efeitos da mudana do clima, tema bastante de-
batido na mdia. Se o problema do aquecimento global vem
sendo amplamente divulgado e faz parte da conscincia do
brasileiro sobre as questes ambientais, a atitude individual
parece ainda no fazer parte das medidas para mitigao do
problema: entre os entrevistados que possuem carro (43%),
apenas 11% aceitariam trocar o veculo a gasolina por um
a lcool, combustvel menos poluente (ver O Brasil e a
Mudana Climtica, pg. 365).
Desigualdades
O Brasil continua sendo um dos pases no mundo onde
h mais desigualdade social. Atualmente, ocupa o 10
lugar em uma lista com 126 pases e territrios, depois da
Colmbia, Haiti e seis pases da frica Subsaariana, segundo
o ndice da desigualdade mundial de 2006, do PNUD. Apesar
disso, houve avanos desde 2005 e o Brasil saiu da penltima
posio no ranking de distribuio de renda da Amrica
Latina no ltimo relatrio, s a Guatemala estava em
situao pior . Mas a desigualdade no Brasil no se resume
a ndices econmicos.
Dados do IBGE de 2006 mostram que os pardos e
negros representam praticamente metade (49,5%) dos
mais de 188 milhes de brasileiros e indicam tambm
uma considervel queda no percentual de participao da
populao branca. Pela primeira vez em duas dcadas de
levantamentos, os brancos no alcanam 50% da populao
total. Essa tendncia atribuda revalorizao da identida-
de de grupos historicamente discriminados (notadamente,
negros e ndios). No entanto, a discriminao da populao
negra e parda no Pas maior do que as j acentuadas dife-
renas existentes entre homens e mulheres, principalmente
no mercado de trabalho. Os negros e pardos so quase 74%
entre os mais pobres e s correspondem a pouco mais de
11% entre os mais ricos e a taxa de analfabetismo entre essa
populao mais do que o dobro do mesmo ndice para os
brancos. Associando cor e faixa de idade, tem-se, por exemplo,
que, em 2005, do total da populao estudante entre 18 e 24
anos, 51% dos brancos j cursavam o ensino superior, enquan-
to quase 50% de pardos e negros ainda cursavam o ensino
mdio (ver Desenvolvimento Humano, pg. 435).
Problemas urbanos
A concentrao da populao nas cidades chegou a
81,2% em 2000, mais do que o dobro registrado em 1970
(30,5%). Mais de 107 milhes de pessoas somaram-se
populao urbana em 40 anos, grande parte em funo do
xodo rural. Essa expanso gerou e ainda gera altos custos
de implantao de infra-estrutura (energia, transporte,
saneamento, limpeza urbana, educao, sade e lazer)
para o setor pblico, j sem recursos. Para se ter uma idia,
estima-se que seriam necessrios em torno de R$ 178
Favela Real Parque e edifcios residenciais do bairro Morumbi em So Paulo (2005).
T
U
C
A
V
I
E
I
R
A
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
N
S
B
R
A
S
I
L
70 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
MUDAN A C L I MT I C A
A grande seca da Amaznia em 2005 e
o furaco Catarina que atingiu o litoral de
Santa Catarina em 2004 so indcios no Brasil
das possveis conseqncias do aumento da
temperatura no mundo.
Estudos e modelos climticos sobre como o
aquecimento global pode afetar o Pas no so
otimistas: prevem mudanas signifcativas no
regime de chuvas e alteraes em praticamente
todos os ecossistemas brasileiros, alm de
impactos nos recursos hdricos e na agricultura.
Nas grandes cidades, as inundaes, enchentes
e desmoronamentos podem se intensifcar.
O mesmo Pas que tem uma posio
privilegiada em relao ao seu potencial de
utilizao de fontes renovveis de energia,
quando desmata e queima suas forestas libera
tanto carbono na atmosfera que assume o
constrangedor quarto lugar no ranking dos
pases que mais emitem gases de efeito
estufa no mundo.
SAIBA MAIS Inpe (www.cptec.inpe.br/
mudancas_climaticas).
VEJA TAMBM Mudana Climtica Global
(pg. 358); O Brasil e a Mudana Climtica
(pg. 365); Desafo do Sculo (pg. 373).
SUL
CENRIO PESSIMISTA: 2 a 4 C mais quente; 5 a 10% de aumento
das chuvas (mais intensas e mais irregulares)
CENRIO OTIMISTA: 1 a 3 C mais quente; 0 a 5 % de aumento
das chuvas (mais intensas e mais irregulares)
POSSVEIS IMPACTOS: mais eventos intensos de chuva; aumento na fre-
qncia de noites quentes (altas temperaturas e chuvas intensas podem afetar
a sade); impactos nas Florestas de Araucria (Mudana Climtica na Mata
Atlntica, pg. 147; ver Mudana Climtica no Pampa, pg. 173).
CENTRO-OESTE
CENRIO PESSIMISTA: 3 a 6 C mais quente;
aumento das chuvas (mais intensas e mais irre-
gulares)
CENRIO OTIMISTA: 2 a 4 C mais quente;
aumento das chuvas (mais intensas e mais irre-
gulares)
POSSVEIS IMPACTOS: mais eventos extremos
de chuvas e secas; impactos no Pantanal e Cerra-
do; altas taxas de evaporao e veranicos com
ondas de calor que podem afetar a sade, a agri-
cultura e a gerao de energia hidreltrica (ver
Mudana Climtica no Cerrado, pg. 138;
Mudana Climtica no Pantanal, pg. 192).
SUDESTE
CENRIO PESSIMISTA: 3 a 6 C mais quente; au-
mento das chuvas (mais intensas e mais irregulares)
CENRIO OTIMISTA: 2 a 3 C mais quente, au-
mento das chuvas (mais intensas e mais irregulares)
POSSVEIS IMPACTOS: similar ao Centro-Oeste;
possvel elevao no nvel do mar (ver Mudana Cli-
mtica na Mata Atlntica, pg. 147; Mudana
Climtica na Zona Costeira, pg. 196).
B
R
A
S
I
L
71 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
AMAZNIA
CENRIO PESSIMISTA: 4 a 8 C mais quente; 15
a 20% de reduo das chuvas
CENRIO OTIMISTA: 3 a 5 C mais quente; 5 a 15
% de reduo das chuvas
POSSVEIS IMPACTOS: Perdas nos ecossistemas
e biodiversidade amaznicos; mais eventos extremos
de chuvas e secas; baixos nveis dos rios; condies
favorveis para mais queimadas; impactos na sade
e comrcio; conseqncias no transporte de umidade
para Sul e Sudeste do Brasil (ver Mudana Climti-
ca na Amaznia, pg. 95).
NORDESTE
CENRIO PESSIMISTA: 2 a 4 C mais quente;
15 a 20% de reduo das chuvas
CENRIO OTIMISTA: 1 a 3 C mais quente;
10 a 15 % de reduo das chuvas
POSSVEIS IMPACTOS: mais veranicos; ten-
dncia para desertifcao; alta taxa de evapo-
rao pode afetar nvel dos audes e agricultura
de subsistncia; escassez de gua; migrao do
campo para cidades (refugiados do clima) (ver
Mudana Climtica na Caatinga, pg. 110).
NORTE
NORDESTE
CENTRO-OESTE
SUDESTE
SUL
B
R
A
S
I
L
72 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
UM P DE QU ?
PAU-BRASIL
Imagina que voc uma perua do sculo XVI, no
Reino de D. Manoel. Passou anos olhando os reis e os
bispos desflando de roupa vermelha na sua frente e
nunca pde usar a cor porque era exclusividade deles.
Um dia, descobrem uma tinta muito mais barata e
lanam no mercado um tecido igual ao vermelho dos
reis. Voc no ia querer? Claro, todo mundo queria. Foi
o que aconteceu na Europa no sculo XVI.
O que isso tem a ver com um texto sobre rvore?
Pois foi justamente uma rvore que instituiu a moda
vermelha na Europa no sculo XVI: o pau-brasil. E essa
rvore vinha de umas terras recm-descobertas de
onde os exploradores podiam tirar o pigmento que iria
popularizar o vermelho nos sales europeus.
Nos primeiros 30 anos depois do descobrimento, o
Brasil viveu exclusivamente da explorao do pau-bra-
sil. At esse momento, a rvore foi a nica coisa de valor
que os portugueses encontraram aqui. O pigmento
vermelho que tiravam dele estava virando um dos
produtos mais procurados da poca.
At fm do sculo XVI, os europeus derrubaram
mais de dois milhes de rvores, 20 mil por ano, 50
por dia. Tem quem diga que foram extrados no total
mais de 70 milhes de rvores. No sobrou quase nada.
Voc, por exemplo, j teve a oportunidade de conhecer
um p de pau-brasil pessoalmente?
VOC SABIA?
M
Em junho de 2007, foi aprovada a re-
gulamentao do comrcio do pau-brasil
na Conveno sobre o Cites. O corte do
pau-brasil j era limitado no Pas desde
1992. Agora, h restries no comrcio
internacional da madeira e necessidade
de certifcao.
I
L
U
S
T
R
A
O
R
U
B
E
N
S
M
A
T
U
C
K
O pau-brasil no serve s para fazer
tinta. com sua madeira, muito
dura e pesada, que so
fabricados os arcos
para os violinos mais
importantes das
orquestras mais
sofisticadas do
mundo; so feitos
tambm mveis,
esculturas. Dele voc
podia tirar um dos
antepassados do
rouge, quer dizer, as
mulheres se maquiavam
com o pau-brasil. Mas no
sculo XVI, era s com isso
mesmo que eles se importa-
vam: o pigmento.
A moda do vermelho permaneceu por muito tem-
po. Na verdade at hoje. Acontece que no sculo XIX
inventaram a anilina. Um novo produto, maravilhoso,
totalmente qumico, de onde se podia tirar o mesmo
vermelho do pau-brasil. Com a nova tecnologia, usar
roupa tingida com pau-brasil tinha virado coisa de
selvagem (antenados, os ndios j usavam o verme-
lho-brasil muito antes dele virar moda na Europa).
A anilina decretou o fm da explorao do pau-
brasil. Mas j era tarde demais: quase no existia mais
a rvore nas nossas matas, antes abundante em toda a
extenso do litoral brasileiro, do Cear ao Rio de Janeiro.
A essa altura, o apelido que puseram na Terra de Vera
Cruz j tinha pegado defnitivamente: Brasil. Em 1961,
o presidente Jnio Quadros decretou ofcialmente o
pau-brasil como a rvore-smbolo do Pas. Mesmo que
voc nunca tenha visto uma.
SAIBA MAIS Pindorama Filmes (www.pindorama
flmes.com.br; www.futura.org.br).
B
R
A
S
I
L
73 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
VOC SABIA?
M
Que o Brasil o quinto maior pas do mundo em territrio? Est atrs da Rssia, China, Canad e Estados
Unidos.
M
Tambm o quinto mais populoso, atrs da China, ndia, Estados Unidos e Indonsia...
M
...e fgura em 10 lugar na lista dos pases com mais desigualdade social.
M
O grau de escolaridade o principal fator de transformao na situao social brasileira. Os ltimos dados
disponveis, de 1996, mostram que entre os 10% mais pobres da populao, 38% tinham educao superior
do pai. Na faixa dos 10% mais ricos esse valor era de 55% (ver Educao, pg. 444).
M
Trabalhadores brasileiros com mais anos de educao ganham at 6,5 vezes mais, na mdia, do que a
mo-de-obra menos qualifcada.
M
No Brasil, pelo menos 30% da populao est abaixo da linha da pobreza, apesar de algumas melhoras
na distribuio de renda nos ltimos anos .
M
O Brasil o segundo maior consumidor mundial de carne bovina...
M
...E o quinto maior consumidor de petrleo no mundo.
M
O Brasil vai estabilizar sua populao pelo meio deste sculo, quando ter ultrapassado 250 milhes de
habitantes (ver Populao Brasileira, pg. 216).
M
Cerca de 80% dos recursos pesqueiros nacionais esto ameaados pela sobrepesca (ver Pesca, pg. 319)
M
Embora o desmatamento na Amaznia tenha cado em 2005 e 2006, est no mesmo nvel de 1994 (quando
comeou a crescer e culminou em 1995, com a maior taxa de desmatamento j registrada). Grande parte
dos especialistas atribui a reduo recente queda no avano da soja na regio, por causa de baixos preos
de exportao (ver Amaznia, pg. 83).
bilhes para universalizar o saneamento e o abastecimento
de gua no Pas at 2020. No entanto, os investimentos nos
sistemas de abastecimento de gua e esgotamento sanit-
rio, nos ltimos oito anos, foram irregulares, podendo em
um determinado ano superar a casa dos R$ 3 bilhes e em
outro cair a valores muito menores.
A rapidez desse crescimento nas cidades produziu um
dfcit estimado em 6,6 milhes de domiclios, atingindo
20 milhes de pessoas aproximadamente. A urbanizao
desordenada tambm fez com que reas de risco e de
proteo ambiental fossem ocupadas como o caso da
Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, e dos mananciais
da Regio Metropolitana de So Paulo. Atualmente,
h previso de maiores investimentos em habitao e
saneamento bsico no plano do governo de acelerao do
crescimento (PAC).
Outros problemas graves de infra-estrutura contri-
buem para a situao precria da maior parte das cidades
brasileiras. Lixes so o destino fnal dos resduos slidos
em 63,6% dos municpios brasileiros; quase 10% dos do-
miclios brasileiros no esto ligados a redes de gua, quase
metade no dispe de redes de esgoto e aproximadamente
80% do que se coleta no tratado (ver Saneamento
Bsico, pg. 303; Lixo, pg. 398). Os investimentos
pblicos para o saneamento bsico caram de 0,38% do
PIB nos anos 1980 para 0,27% em 2004 e, em razo das
condies sanitrias inadequadas, doenas veiculadas pela
gua geram um custo anual calculado em R$ 2 bilhes para
o sistema de sade.
Alternativas
Diante da situao mundial de que o desenvolvimento
tem gerado misria e concentrao de renda, alm de
processos de produo e consumo insustentveis no longo
prazo, necessrio que o Brasil reconhea esse cenrio e
refita sobre sua insero nele (continua na pg. 82).
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
A
R
A
Q
U
M
A
L
C
N
T
A
R
A
74
BRASIL
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Negra de Vo de Almas, Gois, 2003 (acima); Torcedores do
Corinthians, So Paulo, 2005 (abaixo).
Maria, nativa da Chapada Diamantina, 2002 (pgina ao lado).
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
A
R
A
Q
U
M
A
L
C
N
T
A
R
A
75
BRASIL
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
A
R
A
Q
U
M
A
L
C
N
T
A
R
A
76
BRASIL
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
ndios Zo, Rio Cuminapanema, Par, 2005 (acima); Dipirona, Serra do Arac, Barcelos (AM), 2002 (abaixo). Pgina ao
lado: Lavadeira, Barra do Mendes, Bahia (alto); Vaqueiro Encourado, Raso da Catarina, Bahia, 2004 (embaixo).
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
A
R
A
Q
U
M
A
L
C
N
T
A
R
A
77
BRASIL
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
ARAQUM andarilho, viajante, pioneiro na documentao ambiental contempornea. Ele faz poemas visuais e
usa a fotografa como arma de conhecimento e prazer. Seu trabalho um dos primeiros a criar uma memria e uma
identidade visual para o Pas, transportando-nos para espaos desconhecidos e de rarssima beleza. Um olhar politizado
e esclarecedor, necessariamente exaustivo e paciente, marcado pelo encantamento de revelar a dignidade do povo
brasileiro e a exuberncia de nossa natureza. Araqum um colecionador de mundos.
B
R
A
S
I
L
78 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
DESENVOLVIMENTO SIM, DE QUALQUER JEITO NO
Os recursos e servios naturais esto cada vez mais escassos no mundo, enquanto o Brasil, apesar dos pro-
blemas, ainda usufrui uma das maiores sociobiodiversidades do Planeta. A concluso bvia seria a de que esses
recursos e servios deveriam ocupar um lugar central na estratgia poltica, econmica e social brasileira, com a
defnio dos caminhos mais apropriados para preserv-los e utiliz-los racionalmente, evitando desperdcios,
perdas e incompetncias. Mas o Brasil parece fazer o contrrio.
A necessidade de as chamadas questes ambientais serem parte de todas as polticas pblicas e projetos privados,
preconizada por Jos Lutzenberger e outros pioneiros, passou a integrar com mais freqncia o discurso ambiental brasileiro
depois que Marina Silva assumiu o Ministrio do Meio Ambiente (2003) e passou a referir-se sempre transversalidade
em seus discursos, como forma de as polticas pblicas contemplarem
o desafo da sustentabilidade social, cultural, poltica e ambiental
(ver Jos Lutzemberger, pg. 417; e Marina Silva, pg. 450).
Na prtica, porm, projetos e polticas continuam setorizados
e se expande a idia de que a questo ambiental, assim como a
demarcao de terras indgenas e quilombolas, constitui obstculo
ao desenvolvimento econmico e gerao de renda no Pas. Os
principais alvos de crticas esto no licenciamento de hidreltricas,
gasodutos, pavimentao de rodovias e autorizaes para desmata-
mento de reas, para permitir o avano da fronteira agrcola.
Essa viso no leva em considerao vrios fatores, como o de
que o Ministrio do Meio Ambiente continua a ter seus recursos
cortados. Em 2007, o corte foi de R$ 212,7 milhes, ou 32,7% no
oramento, que caiu de R$ 651,2 milhes para R$ 438,5 milhes, pouco mais do que cabe ao Ministrio do Turismo
(R$ 400 milhes) e menos do que a pasta do Esporte (R$ 643,9 milhes).
O Ibama, encarregado dos processos de licenciamento, taxado de inconveniente e moroso, como se o pro-
blema no fosse os prprios projetos. Estes so concebidos, muitas vezes, tecnicamente sem nenhuma preocupao
com os impactos socioambientais e, por isso, tambm quase invariavelmente, incluem apenas algumas medidas
mitigadoras, que em nada ou quase nada alteram a questo. No entanto, nos ltimos anos, o rgo aumentou em
mais de 100% o nmero de licenas ambientais concedidas (de 145 em 2003, para 278 em 2006).
Em tempos de aquecimento global e estudo de aes mitigadoras e redutoras da emisso de gases que agravam o
efeito estufa, o Programa de Acelerao do Crescimento (PAC), do governo federal, aponta como obstculos ao crescimento
eventuais questionamentos sobre a necessidade de ampliar a oferta de energia ou sobre problemas socioambientais com
mega-hidreltricas polmicas na Amaznia, como a do Rio Madeira (ver Eletricidade, pg. 346).
A China decidiu baixar suas taxas de crescimento econmico tambm para reduzir danos ambientais. Mu-
danas climticas j esto acontecendo e no se pode correr o risco de agrav-las por falta de responsabilidade
(ver Crescimento Econmico, pg. 433).
Se assim, cabe perguntar: a que serve fundamentalmente grande parte dos projetos que tm encontrado
difculdade de licenciamento ambiental (ver Licenciamento Ambiental, pg. 449)? Talvez a resposta esteja
em analis-los atravs da transversalidade.
ZOOM
B
R
A
S
I
L
79 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
OS VERDADEIROS CAMPEES DO DESMATAMENTO
EVARISTO EDUARDO DE MIRANDA*
*Mestre e doutor em ecologia, chefe geral da Embrapa Monitoramento por Satlite
H 8 mil anos, o Brasil possua 9,8% das forestas
mundiais. Hoje, o Pas detm 28,3%. Dos 64 milhes de
km2 de forestas existentes no Planeta antes da expanso
demogrfca e tecnolgica dos humanos, restam menos
de 15,5 milhes, cerca de 24%. Mais de 75% das forestas
primrias j desapareceram. Com exceo de parte das
Amricas, todos continentes desmataram, e muito, se-
gundo estudo da Embrapa Monitoramento por Satlite
sobre a evoluo das forestas mundiais.
A Europa, sem a Rssia, detinha mais de 7% das fo-
restas do Planeta e hoje tem apenas 0,1%. A frica possua
quase 11% e agora tem 3,4%. A sia j deteve quase um
quarto das forestas mundiais (23,6%), agora possui 5,5%
e segue desmatando. No sentido inverso, a Amrica do
Sul que detinha 18,2% das forestas, agora detm 41,4%
e o grande responsvel por esses remanescentes, cuja
representatividade cresce ano a ano, o Brasil.
Se o desflorestamento mundial prosseguir no
ritmo atual, o Brasil por ser um dos que menos
desmatou dever deter, em breve, quase metade
das forestas primrias do Planeta. O paradoxo que,
ao invs de ser reconhecido pelo seu histrico de ma-
nuteno da cobertura forestal, o Pas severamente
criticado pelos campees mundiais do desmatamento
e alijado da prpria memria.
Na maioria dos pases, a defesa da natureza
fenmeno recente. No Brasil, vem de longa data. Desde
o sculo XVI, foram estabelecidas regras e limites para
explorao de terras, guas e vegetao. Havia listas
de rvores reais, protegidas por lei, o que deu origem
expresso madeira-de-lei. As reas consideradas
reservas forestais da Coroa no podiam ser destinadas
agricultura. Essa legislao garantiu a manuteno e
a explorao sustentvel das forestas de pau-brasil at
1875, quando entrou no mercado a anilina.
Em 1760, um alvar real de Dom Jos I protegeu os
manguezais. Em 1797, cartas rgias consolidaram leis am-
bientais. Foram criados os Juizes Conservadores, aos quais
coube aplicar as penas previstas para transgresses dessas
leis. Tambm surgiu o Regimento de Cortes de Madeiras
com regras rigorosas para a derrubada de rvores. Em
1808, D. Joo VI criou a primeira unidade de conservao,
o Real Horto Botnico do Rio de Janeiro. Uma ordem
de 1809 deu liberdade aos escravos que denunciassem
contrabandistas de pau-brasil. Em 1830, o total de reas
desmatadas no Brasil era inferior a 30 mil km2. Hoje,
corta-se mais do que isso a cada dois anos.
A poltica forestal da Coroa portuguesa e brasileira
conseguiu manter a cobertura vegetal preservada at
o fnal do sculo XIX. O desmatamento brasileiro
fenmeno do sculo XX. Em So Paulo, Santa Catarina e
Paran, a marcha para o oeste trouxe grandes desmata-
mentos. As forestas de araucrias foram entregues aos
construtores anglo-americanos de ferrovias, junto com
as terras adjacentes. Na Amaznia, a maior ocupao
ocorreu na segunda metade do sculo XX, com migra-
es, construo de hidreltricas e estradas.
H 30 anos, o desmatamento anual varia de 15 a 20
mil km
2
, com picos de 29 mil e 26 mil km
2
em 1995 e 2003.
Em 2005 e 2006, passou a 11 mil km
2
, segundo o Inpe. O
estudo da Embrapa indica que, apesar do desmatamento
dos ltimos 30 anos, o Brasil um dos pases que mais
mantm sua cobertura forestal. Com invejveis 69,4% de
suas forestas primitivas, o Brasil tem grande autoridade
para tratar desse tema frente s crticas dos campees
do desmatamento mundial. H que ter tambm respon-
sabilidade para reavivar, por meio de polticas e prticas
duradouras, a efccia das medidas histricas de gesto e
explorao que garantiram a manuteno das forestas.
Texto publicado no livro Quanto o Amazonas corria para
o Pacfco: uma histria desconhecida da Amaznia, de
Evaristo Eduardo de Miranda, Ed. Vozes, 2007.
VEJA TAMBM Desmatamento (pg. 276).
B
R
A
S
I
L
80 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
Propriedades rurais
M
Quase 50% do territrio brasileiro est cadastrado no Incra como propriedades rurais, assim distribudas:
grupos de rea total classe n
o
imveis % rea (ha) %
menos de 200 ha pequena 3.895.968 91,9 122.948.252 29,2
200 a menos de 2000 ha mdia 310.192 7,3 164.765.621 39,2
2.000 ha e mais grande 32.264 0,8 132.631.509 31,6
TOTAL 4.238.421 420.345.382
M
Dos mais de 132 milhes de ha das grandes propriedades rurais, apenas 30% foram classifcados como
produtivos no cadastro do Incra em 2003. (Incra/2003, organizado por Oliveira, A.U.)
M
As propriedades at 100 ha (3.611.429 imveis) representam 20% do total da rea das propriedades rurais,
mas so responsveis por 46% da produo agrcola e 43% da renda gerada no campo. J as propriedades
acima de 1.000 ha (69.123 imveis) representam 44% do total da rea das propriedades rurais, mas so
responsveis por apenas 21% da produo e 23% da renda gerada no campo. (Oliveira, A.U.)
Atividades econmicas e desmatamento
M
O rebanho bovino no Brasil j ocupa mais de 200 milhes de hectares e continua crescendo, especialmente
na Amaznia. Isso tem provocado, na maioria das vezes, mais desmatamento. Alm disso, 62% dos fagrantes
de trabalho escravo ocorreram nas fazendas de gado. (Imazon)
M
Antes da derrubada da foresta para a formao de pastagens, a Amaznia tem sido alvo dos grileiros e da
explorao seletiva feita pelos madeireiros. Segundo o Imazon (2007), as estradas no-ofciais representam
71% da rede de estradas na Amaznia, com 172.405 km. Esse dado sugere que a ocupao predatria da
Amaznia est muito alm dos 17% de corte raso que as imagens de satlite mostram. As estradas no-ofciais
so construdas pela iniciativa privada para facilitar a explorao e o acesso aos recursos naturais e terras da
Amaznia. (Brando Jr. e Souza Jr., 2006)
(Fonte: Incra/2003, organizado por Oliveira, A.U.)
DISTRIBUIO DAS TERRAS BRASILEIRAS
Terras devolutas
18,55%
Unidades de
Conservao
14,59%
Terras Indgenas
12,83%
Projetos de
assentamento
(Incra, 2003)
3,11%
Propriedades rurais
(Incra, 2003)
49,37%
SITUAO SOCIOAMBIENTAL DO BRASIL
(DA REDAO)
rea urbanizada
(Embrapa, 2005)
0,25%
guas continentais
1,30%
B
R
A
S
I
L
81 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
rea urbanizada
M
Segundo levantamento da
Embrapa (2005), as reas efetivamente
urbanizadas cobrem 0,25% do territrio,
enquanto 80% da populao do Pas classi-
fcada como urbana pelo IBGE (ver O Brasil
mais rural do que se imagina, pg. 63).
Unidades de Conservao
M
As Unidades de Conservao, federais e estaduais,
abrangem 16% do territrio nacional, sendo 5,5% de
proteo integral e 10,5% de uso sustentvel. No
entanto, como h sobreposio entre unidades, a
rea efetivamente protegida no Brasil por UCs de
14,59% (ver reas Protegidas, pg. 261). (ISA, 2007)
Terras Indgenas
M
As Terras Indgenas ocupam 12,83% do territrio brasileiro e
21,52% da Amaznia Legal. Em termos de extenso, 98,62% das
TIs esto na Amaznia (ver Terras Indgenas, pg. 262).
M
A taxa de desmatamento nas TIs da Amaznia de 1,14%,
enquanto nas UCs de proteo integral de 1,42% e nas UCs
de uso sustentvel de 5,08% (ver Terras Indgenas, pg.
262). (ISA, 2003)
Quilombos
M
No Brasil, existem mais de 2.200 comunidades quilombolas,
totalizando cerca de 2,5 milhes de pessoas. Levantamento
realizado pela Comisso Pr-ndio verifcou, porm, que ape-
nas 58 reas (pertencentes a 114 comunidades quilombolas)
haviam sido tituladas at agosto de 2006 (ver Quilombolas,
pg. 234). (UnB, 2005)
VEGETAO NO BRASIL
Clculo efetuado pelo ISA a partir dos da-
dos do Global Land Cover 2000 Database,
JRC/European Comission, 2003.
http://www.gvm.jrc.it/glc2000
B
R
A
S
I
L
82 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
BRASIL CAMPEO DO MUNDO
M
No Guiness 2005, livro dos recordes mundiais, o Brasil fgura como o pas com o maior ndice de des-
matamento do Planeta. Na dcada de 1980, o Brasil respondeu por 28% das perdas de forestas tropicais
registradas no mundo todo e por 13% de outros tipos de forestas. Entre 1900 e 2000, foram destrudos, em
mdia, 22,2 mil km2 de forestas por ano, rea equivalente ao estado de Sergipe (ver Desmatamento, pg.
276 e Os Verdadeiros Campees do Desmatamento, pg. 79).
M
O Brasil j o quarto maior emissor, com mais de 1 bilho de toneladas anuais de dixido de carbono na
atmosfera, gs que contribui para o efeito estufa e para o aumento da temperatura global. Das emisses
brasileiras do gs, cerca de 75% so causadas por desmatamentos, queimadas e mudanas no uso do solo,
principalmente na Amaznia (ver O Brasil e a Mudana Climtica, pg. 365).
M
Os brasileiros, junto com os chineses, so os mais conscientes sobre o papel das atividades humanas no
aquecimento global, mostrou uma pesquisa com 46 pases divulgada em janeiro de 2007 .
M
Dados de 2006 colocam o Brasil em primeiro lugar no triste ranking de nmero de espcies de aves
ameaadas: 119. Na Indonsia, so 118 e no Peru, 94 espcies (ver Fauna, pg. 243).
M
De acordo com a ONU, o Brasil o pas onde mais se morre e mais se mata com armas de fogo (ver
Desenvolvimento Humano, pg. 435).
M
Desconfana: em So Paulo, s 11% das pessoas acham que podem confar nos outros. Nos EUA, essa
taxa de 42,5%.
M
O Pas o campeo mundial na incidncia de raios, com, em mdia, 60 milhes de raios por ano, causando
a morte de cerca de 100 pessoas e prejuzos de R$ 1 bilho.
M
O Brasil o maior produtor mundial de caf, laranja, cana-de-acar, palmito e maracuj. tambm o
segundo produtor mundial de soja, terceiro de milho e quinto de algodo. o maior exportador mundial
de carne boniva.
H, por exemplo, formas de estimular a mudana am-
biental no processo de produo de alimentos e produtos. A
produo mais limpaprev iniciativas como a anlise do ciclo
de vida, que considera o produto desde sua fabricao at sua
destinao fnal, privilegiando o reaproveitamento desse resduo
com alternativas de reciclagem e reuso. Outra iniciativa a con-
siderao dos impactos ambientais do produto no momento da
criao e a na prestao de servios que podem reduzir o impacto
ambiental dos processos de produo.
A mudana de hbito no consumo j d sinais positivos
no mercado de alimentos orgnicos, por exemplo. No Brasil, o
crescimento da produo desses alimentos tem sido de 40% a
50% ao ano, o que tem contribudo para o barateamento dos
produtos - em alguns casos, os orgnicos ainda custam 20% a
mais que os alimentos produzidos por mtodos tradicionais. Em
2000, a demanda por esses produtos na Regio Metropolitana
de Curitiba (PR), por exemplo, foi 35% maior do que a oferta.
A cidade de Bauru (SP) outro exemplo aonde o consumo de
orgnicos vem crescendo: em 2006, aumentou em 5%, o que
tem estimulado produtores a aderirem a modos alternativos
de produo. Alm do baixo impacto ambiental desse tipo de
cultura, ela traz benefcios sociais, j que 70% desses produtos
so fabricados em pequenas propriedades familiares (ver
Consumo Sustentvel, pg. 428).
Investir na formao e no acesso informao dos
brasileiros tambm permite a difuso de novos valores, que
incluem a possibilidade de reivindicao e presso poltica,
a mudana de hbitos para melhorar a relao entre o
homem e o meio ambiente e o incentivo conservao da
diversidade socioambiental brasileira.
CONSULTOR: WASHINGTON NOVAES
Jornalista
A
M
A
Z
N
I
A
83 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
AMAZNIA
LCIO FLVIO PINTO*
cone mundial da biodiversidade, onde est a maior bacia hidrogrfca e a maior foresta
tropical do mundo, a Amaznia possui ainda uma fantstica diversidade cultural.
a regio brasileira relativamente mais preservada de todas. Por isso, constitui a ltima
fronteira do avano desenvolvimentista brasileiro
O bioma Amaznia possui quase 8 milhes de km
2
,
distribudos em nove pases da Amrica do Sul: Bolvia, Brasil,
Colmbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname
e Venezuela. Se formasse um pas, a Amaznia latino-ame-
ricana seria de tamanho equivalente aos Estados Unidos e
toda Europa Ocidental. No Brasil, se estende por 4,1 milhes
de km
2
. Mas a Amaznia Legal, conceito criado na dcada de
1950, ainda maior, abrangendo 5,5 milhes de km
2
, ou dois
teros do Pas, com 18 milhes de habitantes.
Ela se espalha por nove Estados da federao: Ama-
zonas, Par, Roraima, Rondnia, Acre, Amap, Maranho,
Tocantins e Mato Grosso. Embora parte dessa rea adicional
(de 1,4 milho de km
2
) no seja composta pela tpica
foresta amaznica (a hilia, conforme a defnio do cien-
tista alemo Alexandre Humboldt), mas por mata mais
rala e por cerrado, ela foi includa na Amaznia Legal para
poder tambm usufruir incentivos fscais concedidos pelo
governo federal, a partir da dcada de 1950, para acelerar
o desenvolvimento da regio. O Par, com pouco mais de
7 milhes de habitantes, o mais populoso (e o 9 do
Pas). Roraima, com pouco mais de 350 mil habitantes, o
menor em populao.
Atualmente, 32,9% do bioma Amaznia no Brasil
conta com proteo especial (descontadas as sobreposies),
sendo 20,84% terras indgenas e 12,09% unidades de
conservao federal e estadual.
*Jornalista, editor do Jornal Pessoal, de Belm (PA)
Alto, aldeia Kaiabi (MT), Rio Uaups (AM); acima: porto de S. Gabriel da Cachoeira (AM) e S. Jos do Xingu (MT).
P
E
D
R
O
M
A
R
T
I
N
E
L
L
I
/
I
S
A
B
E
T
O
R
I
C
A
R
D
O
/
I
S
A
B
E
T
O
R
I
C
A
R
D
O
/
I
S
A
A
N
D
R
V
I
L
L
A
S
-
B
A
S
/
I
S
A
A
M
A
Z
N
I
A
84 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
Na Amaznia, vivem e se reproduzem mais de um tero
das espcies existentes no Planeta. A foresta abriga 2.500
espcies de rvores (um tero da madeira tropical da Terra) e
30 mil das 100 mil espcies de plantas que existem em toda a
Amrica Latina. Alm da riqueza natural, a Amaznia contm
uma fantstica diversidade cultural. Nela vivem cerca de 170
povos indgenas, com uma populao aproximada de 180
mil indivduos, 357 comunidades remanescentes de antigos
quilombos e centenas de comunidades localizadas, como as
de seringueiros, castanheiros, ribeirinhos e babaueiros.
A Amaznia possui, ainda, grande importncia para
a estabilidade ambiental do Planeta. Estimativas conser-
vadoras indicam que a foresta amaznica responsvel
pela absoro de pelo menos 10% dos cerca de 3 bilhes
de toneladas de carbono retirados da atmosfera pelos
ecossistemas terrestres. No outro extremo, estudo publi-
cado pela revista Science conclui que a Amaznia responde
por quase 40% de tudo que a biota terrestre absorve. Sua
massa vegetal, composta por rvores de at 50 metros de
altura, com copas frondosas, libera cerca de sete trilhes de
toneladas de gua anualmente para a atmosfera, atravs
da evaporao e transpirao das plantas. J seus
rios despejam cerca de 12% de toda a
gua superfcial doce que che-
ga aos oceanos atravs de
toda a rede hidrogrfca
AMAZNIA BRASILEIRA (BIOMA)
AS VRIAS AMAZNIAS
A
M
A
Z
N
I
A
85 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
SITUAO DOS INDICADORES NAS GRANDES ZONAS DA AMAZNIA
O AVANO DA FRONTEIRA
AMAZNICA EM NMEROS
DANIELLE CELENTANO (IMAZON)
E ADALBERTO VERSSIMO (IMAZON)
Indicadores
Amaznia
No-Florestal Desmatada Sob presso Florestal
Caracterizao (IBGE, Inpe e ISA 2005)
rea (em milhares de km2) 1.218,8 (24%) 513,5 (10%) 690,2 (14%) 2.626,1 (52%)
Desmatamento Total at 2005 (%) - 56% 16% 5%
reas Protegidas at 2007 (%) 28% 23% 50% 49%
Demografia (IBGE)
Populao total
(milhes de habitantes)
7,3 (36%) 6,6 (33%) 0,9 (5%) 5,3 (26%)
Crescimento populacional
entre 1991 e 2004 (% a.a.)
3% 3% 5% 4%
Total de migrantes (%) 21% 23% 43% 15%
Violncia (CPT e MS)
Conflitos pela Terra 2003 at 2006
(por 100 mil habitantes)
6,9 5,0 15,2 5,8
Casos de assassinatos rurais
(2003-2006) por 100 mil habitantes
0,2 0,4 5,5 0,6
Taxa de homicdios 2004
(para cada 100 mil hab.)
20,4 24,5 62,3 18,0
Scio-Economia (IBGE, IPEA, MT e Pnud)
PIB municipal mdio em 2004
(milhes de dlares)
1,2
28,7a 46,1a 93,6b 40,7a
Crescimento anual do PIB entre
2000 e 2004
6,8% 4,8% 14% 7,5%
PIB per capita mdio em 2004
(milhares de dlares por ano)
1,2
3,2 2,3 6,3 2,2
Crescimento dos Empregos Formais
entre 2000 e 2004
1
45% 46% 83% 42%
IDH
1,2
0,64ab 0,659a 0,713b 0,648a
1
Excluem-se da anlise as 9 capitais estaduais.
2
As mdias foram comparadas por anlises de varincia (ANOVA)
Letras diferentes signifcam diferena estatstica de acordo com o Teste de Tukey (P<0,05).
O avano e a ocupao da fronteira amaznica
marcado por violncia, desmatamento e por um
falso desenvolvimento econmico o boom-colapso,
onde os benefcios iniciais (renda e emprego) no se sustentam no
tempo e no h melhora na qualidade de vida da populao.
SAIBA MAIS (www.imazon.org.br).
A
M
A
Z
N
I
A
86 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
PERSONAGEM
NEIDE ESTERCI*
*Antroploga, presidente do ISA
noticirios internacionais em portugus difundidos
pela Central de Moscou, pela BBC de Londres e pela Voz
da Amrica. Tinha assim, verses diferentes do que se
passava no Brasil e no mundo e as discutia com Euclides.
Foi assim que fcou sabendo do golpe militar de 1964
e aprendeu sobre a importncia da organizao e dos
sindicatos para os trabalhadores.
Em 1965, Euclides adoeceu, foi para a cidade a
procura de mdico e nunca mais se soube dele. Chico
confessa que fcou meio perdido tinha dezenove
anos, mas logo comeou a organizar os seringueiros.
Primeiro era um trabalho isolado. Ajudava os serin-
gueiros a burlarem a regra de s vender aos patres
com os quais ficavam sempre endividados porque
eles cobravam muito caro pelas mercadorias que os
seringueiros precisavam.
Perseguio
Chico queria a autonomia dos seringueiros e os
ajudava a vender direto para os marreteiros. Logo,
no entanto, outros seringueiros os denunciaram e ele
teve que parar. Formou ento um grupo de alfabeti-
zao mas o prefeito e o padre o acusaram de estar
fazendo agitao e ele teve que passar quase dois anos
escondido para no ser preso.
Em 1975, Chico ouviu falar que estava chegando
uma comisso da Confederao Nacional dos Trabalha-
dores na Agricultura (Contag), para dar um curso de
sindicalismo em Brasilia. Lembrei da recomendao
do Euclides e fui para l. E deu certo, pois como ele
tinha me ensinado muita coisa... acabei sendo eleito
secretrio geral do sindicato. Com Wilson Pinheiro,
Chico aprendeu a organizar os famosos empates
CHICO MENDES (1944-1988)
As lutas dos povos tradicionais geraram grandes
lderes, que se tornaram conhecidos em funo de sua
grandeza, do contexto em que viveram, das alianas
que fzeram e da repercusso que tiveram suas aes.
Chico Mendes apenas um exemplo ele foi um
grande lder dos seringueiros.
Nasceu em 1944, numa famlia nordestina que
migrou para trabalhar nos seringais do Acre. Aos nove
anos, comeou a aprender com o pai o ofcio de cortar
seringa. No uma tarefa fcil. Os talhos tm que ser
sufcientemente profundos, para deixar escorrer o ltex,
e delicados o bastante para no danifcar as rvores,
pois a cada ano, no tempo certo, elas so cortadas
de novo. Os seringueiros dependem delas para seu
sustento e tm cuidado mas, na poca em que Chico
Mendes era pequeno, havia tambm a vigilncia dos
patres. Eles queriam os cortes bem feitos porque do
trabalho dos seringueiros e do bom estado das rvores
dependiam os lucros que almejavam. Aos 11 anos, Chico
j conhecia os segredos da foresta.
Ele, porm, almejava tambm outros mundos
e outros saberes. A primeira chance aconteceu em
1962 e sua vida, l do interior do seringal, comeou
a se cruzar com a histria do Pas e com as lutas dos
trabalhadores.
Perto do seringal onde vivia, na fronteira com
a Bolvia, morava um rapaz de vinte e poucos anos,
vindo da cidade. Euclides Fernando Tvora fora ofcial
do Exrcito e havia aderido Coluna Prestes. Quando
esta foi derrotada, o jovem ofcial foi preso, fugiu e se
refugiou na Bolvia. L tambm foi perseguido e acabou
nos seringais do Acre. Com ele, Chico aprendeu a ler nos
jornais que vinham ele no sabia de onde. Dele recebeu
tambm um rdio atravs do qual passou a ouvir os
SOCIOAMBIENTAL UMA PALAVRA S
A
M
A
Z
N
I
A
87 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
uma barreira de homens, mulheres e crianas que,
pacificamente, se opunha derrubada das matas
e conseguiu impedir que fossem desmatados muitos
hectares (ha) de foresta no Acre. Por participarem dos
empates, os seringueiros e seus lderes foram vrias
vezes presos e espancados.
Wilson Pinheiro foi assassinado em 1980. Chico tes-
temunhou ainda a morte de outros companheiros seus,
como Ivair Higino, que trabalhava nas comunidades de
base e no sindicato e ousou candidatar-se ao cargo de
vereador, contrariando os polticos locais aliados dos
fazendeiros. Chico tambm foi muito perseguido e, em
1980, teve que passar trs meses se escondendo. No
incio de 1987, j tinha sofrido vrios atentados.
Chico no desprezava nenhuma forma de organiza-
o. Assim como trabalhou nas comunidades eclesiais de
base, junto Igreja Catlica, prosseguiu na luta sindical,
mas ligou-se Central nica dos Trabalhadores (CUT),
trabalhou na criao do Conselho Nacional dos Serin-
gueiros (CNS) e do Partido dos Trabalhadores (PT).
Ambientalista
Com a mesma disposio, conversou com os
ambientalistas. Aprendeu o que era ecologia e avaliou,
junto com seus companheiros, que aquela luta era do
interesse deles tambm. Foi convidado por entidades
ambientalistas americanas e chegou a Miami em abril
de 1987 para explicar o quanto o dinheiro dos bancos
estava sendo usado em obras e empreendimentos que
destruam as forestas. Os fnanciamentos chegaram
a ser suspensos, mas Chico Mendes e seus aliados
tinham claro que a preservao da foresta teria que
ser compatvel com o atendimento das necessidades
dos seus moradores e costumavam dizer: queremos
a Amaznia preservada mas queremos tambm que
seja economicamente vivel.
Buscava compatibilizar os objetivos ambientalistas
com as demandas das populaes locais. Quando surgiu
a idia de criarem as
reservas extrativistas
(ver Reservas Extrativis-
tas, pg. 267) os lderes serin-
gueiros decidiram que a terra no
seria dividida seria propriedade da
Unio com a garantia de usufruto para os seringueiros.
Esta seria a reforma agrria dos seringueiros. Se a
terra fosse dividida em lotes, haveria difculdades. Por
um lado, porque a estrada de seringa, que um pai de
famlia percorre todo dia, fca dentro de uma rea que
deve ter entre 300 e 600 ha de extenso. Um lote dessas
dimenses seria muito maior que o previsto pelo Incra.
Por outro lado, havia a preocupao de que os lotes
pudessem ser vendidos e a terra pudesse ser repassada
aos grandes proprietrios. Mantinham assim o formato
dos antigos seringais e colocaes, s que agora sob
o controle dos prprios seringueiros.
Chico foi assassinado, no dia 22 de dezembro de
1988, e tudo isto j estava posto. Mas, foi somente em
1990, no clima instaurado pela comoo internacional
causada pela sua prpria morte e pela expectativa
gerada em torno da realizao da Rio-92 (Ver Confe-
rncias Internacionais, pg. 496), que a criao das
primeiras reservas foi decretada: a Reserva Extrativista
Chico Mendes e a Reserva Extrativista do Alto Juru,
ambas no Acre, com respectivamente 1.500 e 500 ha
de extenso.
VEJA TAMBM Populaes Tradicionais (pg.
223); Socioambientalismo (pg. 461).
I
L
U
S
T
R
A
O
C
A
R
L
O
S
M
A
T
U
C
K
WWW.SOCIOAMBIENTAL.ORG
A
M
A
Z
N
I
A
88 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
UM P DE QU ?
AA
O aa uma planta tpica das forestas de vrzea
do Baixo Amazonas. Quando voc viaja pelos rios
que circundam a cidade de Belm, v a paisagem
toda emoldurada pelas folhas lisinhas e brilhantes
do aa.
O aa uma palmeira cespitosa, quer dizer, uma
palmeira que cresce em touceiras (locais onde h
agrupamentos de uma mesma espcie de planta). S
numa touceira pode-se encontrar uns vinte ps de aa.
O estipe, caule dessa palmeira, bem fninho e chega
altura de 20 a 30 metros. Essa espcie, Euterpe oleracea,
foi descrita por Von Martius, naturalista alemo que
fcou famoso no incio do sculo XIX de tanto viajar pelo
Brasil. Mas antes de Von Martius, conta a lenda que foi a
ndia Ia que descobriu que os frutos do aa eram um
excelente alimento. uma histria trgica:
Antes de existir a cidade de Belm, vivia l uma
tribo que sofria de falta de alimentos. Por isso, o cacique
mandava sacrificar todas as crianas que nasciam.
Por ironia do destino, sua flha, Ia, fcou grvida.
Quando a criana nasceu, foi sacrifcada. Durante dias,
Ia rogou a tup uma soluo para
acabar com o sacrifcio das crianas.
Foi quando ouviu um choro de
um beb do lado de fora
de sua tenda. Era sua
filha sorridente ao p
de uma palmeira. Ia
correu para abra-la, mas
acabou dando de cara com
a palmeira. Ia fcou ali cho-
rando at morrer. No dia seguinte, o cacique
encontrou Ia morta, agarrada palmeira,
olhando fxamente para as frutinhas pretas.
Ele as apanhou, amassou e fez delas um vinho
vermelho encarnado. Para os ndios, aquilo
eram as lgrimas de sangue de Ia. Por isso,
aa, em tupi, quer dizer fruto que chora.
I
L
U
S
T
R
A
O
R
U
B
E
N
S
M
A
T
U
C
K
O aa virou o prato principal dos ndios da regio.
Depois, foram chegando os portugueses, os nordesti-
nos, os japoneses. E o que se diz que eles s fcaram
porque experimentaram aa. O aa virou uma neces-
sidade diria. Passou a fazer parte da identidade dessa
nova tribo que hoje vive na cidade de Belm.
Durante todo esse tempo, o aa vem sendo colhido
pelos ribeirinhos. Quando chega na Feira do Aa, levado
para lojas que transformam o fruto em vinho e abastecem
toda a populao de Belm. So 3 mil lojinhas e 150 mil
litros de vinho consumido por dia! Belm o maior centro
consumidor de aa do Brasil e, conseqentemente,
do mundo. At que algum, l no sul, descobriu que
o palmito de aa substitua bem o palmito de juara,
que estava entrando em extino na Mata Atlntica
(ver pg. 144), e os nossos aaizeiros comearam a
fcar ameaados. Isso foi nas dcadas de 1960 e 1970. O
palmito do aa passou a funcionar como uma poupana
para o ribeirinho. Mas para fazer um bom dinheiro, tinha
que tirar muito p de aa, quase todos que encontrasse
na sua propriedade.
Por pouco o povo em Belm fcou sem a sua papi-
nha, no fosse o fato de que, l no Rio de Janeiro,
surgiu uma outra moda: a da maromba.
Um dia, os lutadores de jiu-jitsu des-
cobriram os poderes da fruta do
aa e comearam a querer
tomar o suco todos os dias.
Isso foi, mais ou menos, no
fnal dos anos 1980.
O mercado de palmito
de aa passou a ser menos
importante e os ribeirinhos
perceberam que podiam ganhar mais
dinheiro, e por mais tempo, explorando
a fruta. Os aaizeiros estavam salvos!
SAIBA MAIS Pindorama Filmes (www.pindorama
flmes.com.br; www.futura.org.br).
A
M
A
Z
N
I
A
89 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
O QUE O SIVAM
A histria do Sistema de Vigilncia da Amaznia (Sivam) comeou em setembro de 1990, quando a j extinta
Secretaria de Assuntos Estratgicos da Presidncia da Repblica substituda pela Agncia Brasileira de Infor-
maes (Abin) e os ministros da Aeronutica e da Justia apresentaram ao presidente Fernando Collor de Mello
um documento contendo a verdadeira realidade da Amaznia, com todos os seus problemas. Para enfrent-los,
conceberam um complexo de informaes e acompanhamento permanente da regio, que permitiria ter informa-
es completas sobre ela e proteg-la. Embora o projeto se apresentasse tambm como cientfco, a comunidade
cientfca no foi consultada previamente nem convidada a debat-lo aps sua aprovao.
Em agosto de 1993, o presidente Itamar Franco aprovou a dispensa de licitao pblica para a aquisio dos
equipamentos e servios necessrios implantao do Sivam, alegando que a revelao dos dados comprometeria a
segurana nacional. Uma comisso foi criada para selecionar os interessados e examinar suas propostas. Surgiram ento
suspeitas de favorecimento e trfco de infuncia, que resultaram num escndalo, j na administrao Fernando Henri-
que Cardoso. Mesmo assim, em maio de 1995, para evitar a descontinuidade da implantao do projeto, o presidente
autorizou a assinatura do contrato comercial, no valor de 1,4 bilho de dlares, com a empresa americana Raytheon,
que comeou a executar o empreendimento em julho de 1997. Esse valor corresponde a 20 vezes o oramento anual
de cincia e tecnologia da Amaznia na poca. Ele ser acrescido de mais 500 milhes de dlares de juros e encargos
at a quitao da dvida, assumida pelo governo brasileiro junto aos agentes fnanciadores norte-americanos.
Em 25 de julho de 2002, exatamente cinco anos depois, como previa o contrato, entrou em atividade, em Manaus, o
primeiro Centro Regional de Vigilncia do Sivam. No segundo semestre, foi concluda a cobertura eletrnica, por satlite,
cobertura area e base terrestre dos 5,5 milhes de quilmetros quadrados da Amaznia Legal. O sistema compreende
equipamentos fxos de sensoreamento remoto, uma esquadrilha de 33 avies, uma base logstica controlada a partir
de Braslia, com extenses em Belm, Manaus e Porto Velho, e um efetivo de 5 mil homens das Foras Armadas. Na
sua fase operacional, o Sivam foi substitudo pelo Sistema de Proteo da Amaznia (Sipam), mas h denncias de
que h equipamentos sucateados e ainda no se tem notcias de resultados prticos de sua operao.
existente no globo terrestre. O Amazonas o mais extenso
e caudaloso de todos os rios, chegando a descarregar no
Atlntico 230 milhes de litros de gua por segundo (ver
Servios Ambientais, pg. 459).
Tudo isso em um ecossistema frgil: a foresta extrai
poucos nutrientes do solo, que, em grande parte de sua
extenso, pobre. As rvores vivem do prprio material
orgnico que lanam sobre o cho. Geram, dessa maneira,
uma formidvel cadeia de vida, que se nutre desse card-
pio de massa vegetal e da gua abundante gerada pelas
prprias rvores e trazida do oceano e da Cordilheira dos
Andes, em um ambiente de umidade sem igual. A menor
imprudncia pode causar danos ao seu equilbrio delicado
(ver As forestas crescem onde chove ou chove onde
crescem forestas?, pg. 368).
Desmatamento acelerado
Apesar de ter chegado ao sculo XXI com a maior parte
do seu territrio ainda preservado, a destruio acelerada
da foresta uma realidade preocupante. A taxa anual de
desmatamento na Amaznia Legal entre agosto de 2001 e
agosto de 2002, no encerramento do governo (de oito anos)
do presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, foi de
25.500 km
2
(ou 2,5 milhes de hectares), 40% a mais do
que no perodo anterior, a segunda maior da histria, mais
extensa do que todo o estado de Sergipe. No ano seguinte,
o primeiro da administrao Luiz Incio Lula da Silva, do PT,
o desmatamento diminuiu, mas ainda assim foi o segundo
maior, atingindo 23.750 km
2
. A mdia de desmatamento
se aproxima da registrada nos anos 1980, considerada a
dcada do fogo. (ver Queimadas, pg. 283).
A
M
A
Z
N
I
A
90 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
Prosa & Verso
A impresso dominante que tive, e talvez cor-
respondente a uma verdade positiva, esta: o
homem, ali, ainda um intruso impertinente.
(Euclides da Cunha, Margem da Histria, 1909)
O desmatamento acumulado j consumiu 17% de
toda a Amaznia, equivalendo a duas vezes o tamanho do
Estado de So Paulo, que concentra um tero da riqueza
nacional e abriga a maior populao do Brasil, com quase
40 milhes de habitantes. Nunca a humanidade destruiu
tanta foresta como tm feito os brasileiros (e alguns es-
trangeiros) na Amaznia desde o fnal da dcada de 1950,
quando comearam a ser construdas as primeiras estradas
(a Braslia-Belm e a Braslia-Acre) visando a integrao
fsica da regio ao Pas.
At ento, a Amaznia esteve completamente isolada
por terra do restante do Brasil, j que nenhum dos seus gran-
des ciclos histricos anteriores (drogas do serto, madeira,
cacau e borracha) conseguiu criar uma atividade comercial
consolidada e duradoura. O mais importante, o da borracha,
que durou quase 50 anos (entre o fnal do sculo XIX e a pri-
meira dcada do sculo seguinte), chegou a manter a regio
como a terceira mais importante do Pas nesse perodo, mas
o plantio de sementes de seringueira no Oriente acabou com
a hegemonia mundial da produo brasileira e logo a tornou
totalmente irrelevante para o mercado.
Por considerar que, nessa condio de baixa densidade
demogrfca, a regio estava sujeita cobia internacional,
os governos militares (1964-85) promoveram obras de
grande impacto (estradas, hidreltricas, portos, cidades)
para atrair colonos e empresas, que, integrando a regio,
evitariam que ela fosse entregue aos estrangeiros.
Prevalecia a doutrina de segurana nacional como a
matriz do pensamento ofcial, que se manteve na regio,
a despeito da redemocratizao, iniciada em 1985, atravs
de iniciativas como o Programa Calha Norte e o Sistema de
Vigilncia da Amaznia (Sivam) (ver pg. 89). Por isso, a
ordem era desenvolver o mais rapidamente possvel, ainda
que o custo social e ambiental se tornasse elevado, como
P
E
D
R
O
M
A
R
T
I
N
E
L
L
I
/
I
S
A
Riozinho do Anfrsio, Terra do Meio (PA), 2002.
A
M
A
Z
N
I
A
91 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
acabou sendo. Alm do desmatamento descontrolado, essa
ampla ofensiva transformou a regio, que deveria ser um
den fundirio, na qual todos os migrantes (originrios de
regies latifundirias, que os excluem e expulsam) teriam,
fnalmente, um lote de terras para explorar, consolidando-
se como proprietrios rurais, no mais sangrento cenrio de
confitos pela posse da terra no Pas.
Confitos
O que no incio foi um processo sumrio de expulso
de ocupantes tradicionais e de formao de legies de pos-
seiros, sem a titularidade da terra, transferida para poucos
proprietrios, s comeou a mudar com a posio assumida
inicialmente pela Igreja e, em seguida, por movimentos so-
ciais organizados. A tenso, entretanto, continua em estado
latente ou de confito aberto, manifestando-se em seguidos
choques entre os principais atores da fronteira, como ndios,
garimpeiros, madeireiros, lavradores e grandes corporaes
econmicas, nacionais e estrangeiras.
Parte da explicao para o recrudescimento do desma-
tamento na primeira dcada de sculo XXI, coincidindo com
o incremento das exportaes brasileiras, est na ampliao
da rea plantada na regio, por conta da expanso do gado,
da soja e do arroz. Essas frentes econmicas avanam em
direo ao corao da Amaznia, desencadeando novos
empreendimentos mineradores, siderrgicos e metalrgi-
cos, de grande porte (conhecidos como grandes projetos
porque exigem muito capital e tecnologia avanada).
Tambm pesa a desvalorizao do real no incio de 2001,
a maior competitividade da madeira abatida impune-
mente na regio, a inexistncia de crdito para manejo
sustentvel dos recursos forestais e a crnica incapacidade
de implementao de rgos governamentais como o
Ibama debilitados por anos de reduo oramentria.
RIQUEZAS OCULTAS E COBIA MUNDIAL
Um dos maiores desafos na abordagem da Amaznia v-la tal qual ela (o que acaba levando a ver vrias
Amaznias). A regio provoca o imaginrio de todos que se interessam por ela. Os espanhis, os primeiros europeus a
formarem uma idia completa sobre a Amaznia, batizaram-na a partir da mitologia grega. Viramguerreiras amazonas
em combate, mesmo que inexistentes. Alexander Humboldt classifcou-a de celeiro do mundo, no sculo XVIII, mesmo
sem ter penetrado no ncleo amaznico. O governo portugus, que controlava a regio, proibiu a entrada do sbio alemo.
Considerava-o um espio.
Quase todos, do mais bem informado ao semi-ignorante sobre a regio, acreditaram no passado e continuam a crer
hoje que h riquezas ocultas na Amaznia. A convico de que basta assegurar presena nela para usufruir descobertas
no futuro, tornou a questo da posse da Amaznia num tema permanente, explcita ou disfaradamente. Investimentos
so feitos no para retorno imediato, com a segurana que orienta a aplicao de capital em outras regies, mas para
garantir um domnio futuro e atingir um objetivo que s vezes sequer est formulado.
Exatamente por isso, a questo da internacionalizao se estabeleceu na Amaznia desde que espanhis e portu-
gueses, mesmo quando permaneceram sob a mesma bandeira (a da Espanha) por 60 anos, entre os sculos XVI e XVII,
se digladiaram e manobraram para ocupar possesses cada vez maiores. Quando as duas coroas se separam, a corrida
territorial continuou, em favor dos portugueses (que alimentaram a esperana de manter o controle da Amaznia, mesmo
quando o Brasil se tornasse independente). E prossegue at hoje, ainda (ou sobretudo) quando os lances ocorrem no
mbito diplomtico, nos gabinetes. Dada a aura de lendas e mistrios que cerca a Amaznia, ningum acredita que sua
histria transcorre luz do dia. sombra que a mquina do tempo e dos interesses mais funciona na regio (e,
sobretudo, fora dela, nas sedes das corporaes econmicas e nos centros do saber de vanguarda). Da a profuso de teorias
e denncias, algumas conspirativas, outras nem tanto. Elas surgem e germinam, independentemente de sua consistncia,
porque no existe solo mais frtil para a imaginao do que o amaznico.
A
M
A
Z
N
I
A
92 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
C AR TO P OS TAL AME A ADO
ARQUIPLAGO DE ANAVILHANAS
MARINA ANTOGIOVANNI DA FONSECA*
Situado nos municpios de Novo Airo e Manaus,
o Arquiplogo de Anavilhanas o segundo maior
arquiplago fluvial do mundo e compe uma das
paisagens mais famosas de toda a Amaznia brasileira.
So cerca de 400 ilhas, em geral muito compridas e
fnas, formando cordes de vegetao que recortam
o leito principal do Rio Negro, compondo um labirinto
de canais e lagoas.
A formao das ilhas se d em decorrncia do
encontro das guas barrentas do Rio Branco com as
guas cidas do Rio Negro. A fora do encontro das
guas faz com que um rio represe ligeiramente o outro,
desacelerando a velocidade de ambos neste ponto. A
diminuio da correnteza e a acidez das guas do Rio
Negro fazem com que os sedimentos carregados pelo
Rio Branco se precipitem e se depositem, aos poucos,
no fundo do leito do rio, formando as ilhas.
A vegetao que se formou nas ilhas ao longo dos
anos frgil e composta por rvores adaptadas condi-
o de constante alagamento - cerca de 10 meses por ano
em algumas reas. Este tipo de vegetao chamado de
igap e, embora apresente uma diversidade menor que
as forestas de terra frme (no alagadas), possui espcies
vegetais exclusivas que servem de abrigo e alimentao
para muitas espcies de peixes, aves, mamferos e
outros animais. A condio de alagamento possibilita
a navegao dentro do igap, onde possvel observar
a beleza das rvores refetida no calmo espelho dgua
que se forma sob o abrigo da foresta.
Em 1981, uma rea de cerca de 350 mil hectares,
que compreende toda a extenso do Arquiplago de
Anavilhanas, foi elevada categoria de Estao Ecolgica
(ESEC) e passou a ter sua administrao regulada pela
extinta Secretaria Especial do Meio Ambiente - Sema (que,
a partir de 1989, passou a compor o Ibama). As ESECs
so Unidades de Conservao (UCs) de proteo integral
com restries severas de utilizao, destinadas apenas s
atividades de pesquisa cientfca e visitao pblica com
fns educativos. No entanto, desde sua criao, a ESEC de
Anavilhanas vem sofrendo com atividades irregulares
que ocorrem em seus limites. Entre elas esto a extrao
ilegal de areia, a caa e a pesca, mas, seguramente, a
explorao madeireira e o turismo desordenado so as
principais ameaas Estao. Embora a lei restrinja a
atividade turstica nas ESECs, Anavilhanas est nos prin-
cipais roteiros tursticos na regio. Turistas mal orientados
acabam acampando nas praias do Arquiplago, pescando
e deixando todo o lixo gerado na Estao.
J a explorao madeireira facilitada pelo acesso
das embarcaes s forestas alagadas, onde as toras
so cortadas e transportadas pelo prprio rio. Uma das
madeiras mais procuradas a da Virola, uma rvore
alta, que pode ser facilmente serrada e cuja madeira
tem um uso descartvel como tbuas de azimbre para
a construo civil em Manaus. Existem ilhas em Anavi-
lhanas que se encontram severamente depauperadas
pela explorao de madeira e a fscalizao destas reas,
alm de difcil - dada a complexidade do arranjo de ilhas,
canais e lagoas - demanda um contingente de fscais que
o Ibama no dispe.
* Pesquisadora do Programa Rio Negro do ISA
R
O
B
E
R
T
O
L
I
N
S
K
E
R
/
T
E
R
R
A
V
I
R
G
E
M
Labirinto de ilhas no Rio Negro.
A
M
A
Z
N
I
A
93 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
VER-O-PESO
TEXTO E FOTOS BETO RICARDO*
Vir a Belm e no visitar o Ver-o-Peso como ir a Roma e no ver o Papa, disse um vendedor de peixe ao ser
en tre vistado durante o Inventrio Cultural, Histrico, Arquitetnico e Ambiental realizado pela Fundao Cultural
de Belm (2000). Elo de ligao entre a metrpole e os sertes da Amaznia brasileira, o entreposto comercial,
que nasceu em 1688, foi denominado pelo rei de Portugal lugar de ver-o-peso. Depois de muitas modifcaes, o
atual complexo comercial-cultural do Ver-o-Peso foi tombado pelo Patrimnio Nacional. uma amostra importante
e dinmica da diversidade socioambiental da Amaznia, pelas gentes e produtos que l circulam diariamente.
Peixe fresco e salgado, do mar e do rio, ervas medicinais e religiosas, plantas ornamentais, temperos, frutas e
verduras, artesanato, tucupi, manivas e farinhas, o Ver-o-Peso tambm uma praa de alimentao, com vrios
tipos de mingau, sucos de frutas e refeies a base de peixe frito. Passagem obrigatria do Crio de Nazar, a maior
manifestao religiosa da regio norte do Pas, o Ver-o-Peso palco de outras tantas festas populares, como a do
Caboclo Z Raimundo, a de So Benedito da Praia, a de Iemanj e de So Joo.
Castanha-do-par, farinhas-de-mandioca, camaro seco, barraca de garrafadas, temperos e jambo.
* Antroplogo, secretrio executivo do ISA
A
M
A
Z
N
I
A
94 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
Esse enfraquecimento favorece a indefnio fundiria,
causa de inmeros e sangrentos confitos pela posse da
terra, cujo domnio mal defnido, alm de sua posse ser
injustamente distribuda (1% dos proprietrios controlam
57% da rea dos imveis rurais).
Mesmo chocantes, os nmeros sobre destruio de
florestas representam apenas uma estimativa, j que o
satlite TM-Landsat, utilizado pelo Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe) para essas medidas, no
consegue captar derrubadas em reas menores que 6,25
hectares. Assim, deixa de fora o impacto provocado por
milhes de posseiros e colonos. Alm disso, os dados
no incluem o corte seletivo de madeira, resultante
da atuao de milhares de madeireiros em atividade
na Amaznia, e tampouco o desmatamento provocado
por grandes incndios florestais, como o de Roraima,
que aconteceu em 1998. Tambm no captam os efeitos
indiretos do rompimento do equilbrio ecolgico sobre
os diversos ciclos de vida que se mantinham quando
havia a floresta.
O desmatamento extrapolou de uma rea conhecida
como Arco do Desmatamento que vai de leste para o
sul do Par, na direo oeste, passando por Mato Grosso,
Rondnia e Acre impulsionado por um consrcio madei-
ra-pastagem-produo de gros para exportao. Fortes
desmatamentos esto ocorrendo tambm na margem
esquerda do Rio Amazonas e no sudeste da Terra do Meio,
um vasto bolso de terras localizadas entre os rios Xingu e
Tapajs, no centro do Par. O ataque regio ocorre tambm
pelo oeste, vindo de Mato Grosso e se irradiando a partir das
margens da rodovia Cuiab-Santarm (BR-163), que ainda ,
em metade da sua extenso, de revestimento primrio, mas
se encontra em vias de ser asfaltada (ver BR-163: rumo
sustentabilidade?, pg. 338).
Alm disso, relatrio elaborado pela Secretaria de
Assuntos Estratgicos ligada Presidncia da Repblica
reconhece que 80% da produo madeireira da Amaznia
provm da explorao ilegal. Existem 22 madeireiras estran-
geiras conhecidas na regio, sobre cuja atividade h pouca
fscalizao. O desperdcio da madeira fca entre 60% e 70%
do que derrubado. No entanto, o setor forestal contribuiu
com 15% a 20% do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados
do Par, Mato Grosso e Rondnia.
MDL CONTRA O
DESMATAMENTO
Alm da imensa perda de biodiversidade
e da ameaa a povos e culturas tradicionais, o
desmatamento da Amaznia afeta o ciclo das
guas e adiciona, segundo o Instituto de Pesquisa
da Amaznia (Ipam), 200 milhes de toneladas de
carbono atmosfera, colocando o Brasil entre os
dez maiores viles do aquecimento global.
O investimento nos Mecanismos de De-
senvolvimento Limpo (MDL) apontado pelo
pesquisador Carlos Nobre (Inpe) como uma opo
real para deter a destruio forestal na Amaznia.
Se a taxa anual de desforestamento na Amaz-
nia for reduzida em 10%, equivaleria a deixar de
desforestar 1,5 a 2 mil km2 por ano em relao a
valores de desmatamento registrados nos ltimos
anos. Isto equivaleria a uma reduo anual das
emisses de 20 a 30 milhes de toneladas de car-
bono. Por conta disso, o cientista sugere que o Pas
lidere, no mbito das discusses do Protocolo de
Quioto, um movimento para a incluso do papel
de desmatamento evitado como MDL a vigorar no
segundo perodo de comprometimento de reduo
de emisses, aps 2012. Sugere, ainda, que corre-
dores ecolgicos sejam reas preferenciais para
manuteno das forestas.
P
E
D
R
O
M
A
R
T
I
N
E
L
L
I
BR-158 que liga Barra do Gara (MT)
Marab (PA), 1997.
A
M
A
Z
N
I
A
95 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
conseqncias ambientais, como a eroso do solo e a
contaminao dos rios com mercrio. Como as principais
mineradoras instaladas na Amaznia so voltadas para a
exportao, usufruem iseno de impostos e contam com
energia subsidiada, apenas uma frao da renda que geram
fca na prpria regio. por isso que as grandezas quantita-
tivas da minerao, que transformaram o Par no segundo
maior Estado minerador do Pas (prestes a ultrapassar Minas
Gerais), no se refetem nos indicadores sociais.
Mas um novo ciclo de grandes projetos se inicia,
tendo como eixo a maior provncia mineral do mundo, em
Carajs, no Par, para a produo de concentrado de cobre,
nquel, gusa e ao, consolidando a atividade meramente
extrativa ou que apenas faz o benefciamento primrio da
matria-prima. O ganho maior fca para quem compra esses
Entre os problemas que propiciam esta situao,
podem ser apontados: a insufcincia de pessoal dedicado
fscalizao, as difculdades em monitorar extensas reas
de difcil acesso, a fraca administrao das reas protegidas
e a falta de envolvimento das populaes locais.
Grandes Empreendimentos
Outra forma de destruio tm sido os alagamentos
para a implantao de usinas hidreltricas. o caso da usina
de Balbina, no nordeste de Manaus. A baixssima relao
entre a rea alagada e a potncia instalada nessa hidreltrica
tornou-se um exemplo de inviabilidade econmica e ecol-
gica em todo o mundo (ver Eletricidade, pg. 346).
A atividade da minerao organizada, atravs de
empresas, e da garimpagem tambm trouxe graves
MUDAN A C L I MT I C A
Caso o avano da fronteira agrcola e da in dstria
madeireira seja mantido nos nveis de dezembro de 2006, a
cobertura forestal na Amaznia brasileira poder diminuir
dos atuais 5,3 milhes de km2 (85% da rea original) para
3,2 milhes de km2 em 2050 (53% da cobertura original).
Ao mesmo tempo, segundo estudo do Ministrio do Meio
Ambiente sobre os efeitos da mudana climtica na biodi-
versidade brasileira, o aquecimento global vai aumentar as
temperaturas na regio amaznica e pode deixar o clima mais
seco, provocando a savanizao da foresta. O aumento da
temperatura pode chegar a at 8C no cenrio mais pessimis-
ta; os nveis dos rios podem ter quedas importantes e a secura do ar pode aumentar os incndios forestais.
Alm disso, a habilidade da Amaznia em regular a chuva e resistir mudana climtica (ver As forestas
crescem onde chove ou chove onde crescem forestas?, pg. 368) pode entrar em colapso, se levada em
conta a associao de fatores como o desmatamento da foresta e as crescentes taxas de emisso de gs carbnico
na atmosfera (com o conseqente aumento do efeito estufa e da temperatura do Planeta). A drstica alterao
do regime de chuvas na Amaznia proporcionada por altas temperaturas e pelo desmatamento pode extinguir
a foresta em poucos anos.
SAIBA MAIS Marengo, Jos A. Mudanas Climticas Globais e seus efeitos sobre a biodiversidade. Braslia:
Ministrio do Meio Ambiente, 2006.
VEJA TAMBM Brasil (pg. 70); Mudana Climtica Global (pg. 358); O IPCC e a Mudana Climtica (pg.
360); O Brasil e a Mudana Climtica (pg. 365); O Desafo do Sculo (pg. 373).
D
A
N
I
E
L
B
E
L
T
R
A
/
G
R
E
E
N
P
E
A
C
E
Lago Curua (PA), no baixo Rio Amazonas,
durante a seca de 2005.
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
P
E
D
R
O
M
A
R
T
I
N
E
L
L
I
96
AMAZNIA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Soja So Jos do Xingu (MT)/2004 (acima); Botijes de gs So Gabriel da Cachoeira (AM)/2004 (abaixo). Retirada de
barro do Rio Negro para fazer tijolos para a construo civil, conhecidos como p duro Manaus (AM)/2003 (pgina ao
lado, alto).
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
P
E
D
R
O
M
A
R
T
I
N
E
L
L
I
97
AMAZNIA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Anta Rio Tiqui (AM)/2001 (abaixo esq.).
Trabalhador da ofcina de manuteno da Vale do Rio Doce Carajs (PA), 2002 (abaixo dir.).
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
P
E
D
R
O
M
A
R
T
I
N
E
L
L
I
98
AMAZNIA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Pescador na costa do Par
Ajuruteua (PA)/2004 (acima);
Carregadores do Porto de Manaus
Manaus (AM)/2003 (ao lado).
PEDRO MARTINELLI fotografa na
Amaznia desde 1970. autor de Panar, a
volta dos ndios Gigantes (ISA,1998), Amaznia,
o Povo das guas (Terra Virgem, 2000) e
Mulheres da Amaznia (Jaraqui, 2003).
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
P
E
D
R
O
M
A
R
T
I
N
E
L
L
I
99
AMAZNIA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Santarm (PA)/2005 (acima). Festa do Boi Parintins (AM)/2005 (abaixo).
A
M
A
Z
N
I
A
100 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
NO CONFUNDA...
M
Bacia Amaznica Desde sua nascente, na Cordilheira dos Andes, no Peru, at a foz, o Amazonas tem
uma extenso de 6.400 quilmetros, superando o Nilo, segundo as ltimas pesquisas. tambm o maior rio
do Planeta em vazo, com volume variando de 120 milhes a 200 milhes de litros de gua por segundo,
e tambm em termos de rea de drenagem, com cerca de 7 milhes de km2, ou seja, 40% do continente
sul-americano. Essa vazo de gua doce corresponde a 20% de todos rios do Planeta somados. Estima-se
que por dia ele lance no Oceano Atlntico 1,3 milhes de toneladas de sedimentos.
M
Bioma Amaznia Corresponde ao conjunto de ecossistemas que formam a Bacia Amaznica. Est
presente em nove pases da Amrica do Sul. Alm das forestas tropicais, sua paisagem tambm composta
por mangues, cerrados, vrzeas, entre outros. No Brasil, o ncleo central dessa paisagem, a hilia amaznica,
com grande concentrao de rvores de grande porte, com at 50 metros de altura, tendo o rio Amazonas
como eixo que domina 300 quilmetros para cada lado do seu curso, ocupa 3,5 milhes de km2.
M
Amaznia Clssica uma diviso poltica e geogrfca, que inclui os seis estados num conjunto tambm
conhecido como regio Norte: Amazonas, Par, Roraima, Rondnia, Acre e Amap. So aquelas unidades
com predominncia da foresta tipo hilia.
M
Amaznia Legal uma criao administrativa do governo federal, de 1996, que juntou os estados da
Amaznia Clssica aos que se situavam em suas bordas (Maranho, Tocantins e Mato Grosso), tendo com ela
certa identidade fsica, humana e histrica, seja no Meio-Norte (pelo lado do Nordeste), como no Planalto
Central (pelo Centro-Oeste). Essa regio poderia receber recursos dos incentivos fscais, um fundo formado
pela renncia da Unio cobrana de impostos de empreendedores dispostos a investir nessa fronteira ainda
pouco conhecida e ocupada. Ao invs de nela aplicarem capitais prprios novos, esses investidores podiam se
habilitar a receber dinheiro que, sem os incentivos, teriam que ser recolhidos ao tesouro nacional na forma
de imposto de renda. Esse fundo foi administrado por duas agncias federais, primeiro a SPVEA (entre 1953
e 1966) e, em seguida, pela Sudam, que foi extinta em 2000 sob acusaes de corrupo. Sua recriao foi
prometida, mas at hoje no foi efetivada.
M
Amazonas Maior estado em extenso do Brasil, com 1,5 milho de km2 (20% do Pas). Como sua atividade
econmica principal, surgida em funo da Zona Franca, se concentra em Manaus (sede de 95% do Produto
Interno Bruto), metade de sua populao afuiu para a capital, atualmente a maior cidade da Amaznia. Por
isso o Estado proporcionalmente menos alterado da Amaznia. Pelo mesmo motivo, sua fraca densidade
demogrfca motivo de preocupao para as autoridades que vem a regio pelo prisma geopoltico da
segurana nacional. Inquietam-se com as extensas fronteiras sem a presena de brasileiros.
M
Amazonense Quem nasce no Estado do Amazonas.
M
Amaznico Quem nasce na regio amaznica.
M
Amaznida Aquele que tem conscincia da especifcidade regional e da condio colonial da Amaznia.
Ou seja: um cidado consciente da sua posio no tempo e no espao regional.
Voc quer ser um amaznida? Escreva para o Almanaque Brasil Socioambiental
(almanaquebrasilsa@socioambiental.org) e d sua opinio sobre qual a forma mais inteligente de
ocupar a maior fronteira de recursos naturais do Planeta.
A
M
A
Z
N
I
A
101 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
bens, de baixo valor relativo. Grande parte da produo
vai para o exterior. Em escalas crescentes, para o Japo e
a China. O Japo, por exemplo, que at recentemente era
o maior comprador de Carajs, compra na Amaznia 15%
do alumnio e 15% do minrio de ferro de que precisa para
seu enorme parque industrial. A China, que desbancou seu
vizinho como cliente preferencial da Companhia Vale do
Rio Doce, j obtm em Carajs quase 20% da produo da
provncia, que em 2007 deveria alcanar 100 milhes de
toneladas anuais (ver Minerao, pg. 352).
Explorao e Desigualdade
O Atlas do Desenvolvimento Humano, lanado no incio
de outubro de 2003, mostra que a Amaznia cresce menos
do que as outras regies brasileiras e tem uma das maiores
concentraes de renda do Pas. Conforme os dados do Atlas,
elaborado em conjunto pelo Programa das Naes Unidas
para o Desenvolvimento (Pnud), Instituto de Pesquisas Eco-
nmicas Aplicadas (Ipea) e Fundao Joo Pinheiro, todos
os Estados da Amaznia tiveram desenvolvimento entre
1991 e 2000 abaixo da mdia nacional. Par, Amazonas,
Acre e Tocantins esto na faixa mais pobre do ndice de
Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro.
Nos ltimos dez anos, enquanto os grandes projetos
de infra-estrutura continuavam o padro predatrio,
centenas de iniciativas comunitrias criavam um novo mo-
delo de desenvolvimento amaznico, baseado no manejo
sustentvel de recursos naturais e na gesto participativa
de polticas pblicas. Em alguns casos, esse modelo foi
assumido por diversos setores pblicos, criando novas
maneiras de pensar e agir em harmonia com a foresta e
suas comunidades.
Todo esse processo, no entanto, no est sendo
levado em considerao por muitos dos atuais dirigentes
federais, estaduais e municipais, o que tem provocado o
crescimento da violncia no campo, a partir das aes de
quadrilhas organizadas de grileiros de terras pblicas. A
ausncia do Estado e a impunidade tm proporcionado
o desmatamento ilegal, a expulso de comunidades, a
morte de lideranas indgenas e de pequenos agriculto-
res, a invaso de reas j protegidas por lei e o incentivo
ao latifndio.
A
N
D
R
V
I
L
L
A
S
-
B
A
S
/
I
S
A
Fazenda de soja na fronteira sudeste do Parque Indgena do Xingu, Querncia (MT), 2004.
A
M
A
Z
N
I
A
102 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
Por volta do sculo XVI, a regio amaznica do Alto
Xingu abrigava aldeias com at 500 mil m2 e habitadas
por at 5 mil pessoas. Tais ncleos se organizavam de
forma circular em torno de grandes praas, interligadas
por estradas que chegavam a 5 km de extenso e 50 m
de largura. Esses complexos incluam outras estruturas
artifciais, como represas, pontes, fossos, aterros e la-
gos. Algumas aldeias eram fortifcadas, com paliadas e
valas de at 5 m de profundidade e 2,5 km de extenso,
cuja funo, supe-se, era a defesa contra os ataques
de outros povos indgenas.
O pice dessa estrutura regional no Alto Xingu, que
era multitnica e multilingstica, se deu por volta da
poca do descobrimento do Brasil. O incio da deca-
dncia, marcada por acentuada queda demogrfca,
ocorreu entre 1600 e 1700, em funo dos primeiros
contatos ainda que indiretos com doenas trazidas
pelos colonizadores.
Outras grandes formaes scio-culturais ama-
znicas, porm, desapareceram antes da invaso
europia. Na Amaznia Central, na regio da con-
funcia entre os rios Negro e Solimes, os estudos
arqueolgicos recentes vm mapeando antigos stios
de ocupao de dimenses ainda maiores que os do Alto
Xingu. O stio Autuba, prximo cidade de Manaus,
se estende por uma faixa de 3 mil metros de extenso
por quase 300 de largura (900 mil m2), o equivalente
a 90 quarteires de uma cidade. Estes grandes stios
costumam estar implantados em reas de terra preta,
solo frtil resultante da acumulao de detritos criados
pela atividade humana. A espessura das camadas de
terra preta (s vezes de quase dois metros), bem como
a quantidade e natureza dos vestgios arqueolgicos ali
encontrados, sugerem ocupaes muito prolongadas
(at 300 anos seguidos), por parte de sociedades
populosas e scio-politicamente diferenciadas. Tais
formaes perduraram s vezes por sculos, sendo
sucedidas por outras, de povos invasores ou migrantes,
portadores de diferentes tradies culturais. A cultura
autuba ocupou a regio prxima a Manaus por quase
dez sculos, at 1600 anos atrs. A ela se seguiu a
cultura manacapuru, que perdurou por cerca de meio
milnio na mesma regio. Enquanto isso, uma cultura
proveniente da Amaznia Oriental subia a calha do
Solimes, varrendo ou absorvendo o que estivesse no
caminho: a tradio chamada Guarita, fabricante de
uma cermica semelhante famosa cermica mara-
joara, que conheceu seu apogeu na Amaznia Central
por volta de mil anos atrs.
Esse , em linhas gerais, o cenrio mostrado nos
estudos que vm sendo realizados no Alto Xingu e
na Amaznia Central por arquelogos como Eduardo
Neves, do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP,
e Michael Heckenberger, da Universidade da Florida-
Gainesville. O trabalho destes e outros pesquisadores
confrmam e precisam as hipteses que alguns espe-
cialistas haviam formulado j h algum tempo sobre
a ecologia histrica e a fsionomia scio-poltica da
Amaznia pr-colombiana.
Sem Mata Virgem
A partir dessas evidncias, torna-se cada vez mais
difcil defender a idia, ainda corrente na opinio
pblica, de uma Amaznia intocada, coberta de matas
virgens, habitada apenas por pequenas tribos esparsas
por volta de 1500.
A pesquisa sobre o Alto Xingu, conduzida por
Heckenberger em colaborao com antroplogos da
UFRJ e com membros do povo Kuikuru, traz outros
dados surpreendentes, como o fato de que, nas antigas
reas de assentamento ocupadas por esses povos, a
foresta que ali cresceu, mesmo depois de mais de 4
sculos desde o abandono dessas terras, ainda no
atingiu seu clmax. Em estudo publicado em 2005,
AMAZNIA ANTROPIZADA
EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO*
*Antroplogo do Museu Nacional (UFRJ)
A
M
A
Z
N
I
A
103 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
esses pesquisadores sustentam que, alm da pesca
abundante na regio, onde esto as cabeceiras do
Rio Xingu (ver Parque Indgena do Xingu, pg.
278) , o cultivo da mandioca era feito em larga
escala, de modo a sustentar milhares de pessoas, o
que teria imposto uma dramtica alterao humana
da cobertura vegetal.
A situao do Xingu talvez no tenha sido excep-
cional, como mostram os estudos na regio de Manaus.
A Amaznia uma regio ocupada milenarmente por
povos indgenas e, secularmente, por segmentos da
populao nacional de origem europia e africana, que
se acostumaram aos ritmos e exigncias da foresta.
Antes da enorme catstrofe (a invaso europia) que
dizimou seus ocupantes originrios, esta era uma regio
densamente povoada por sociedades que modifcaram o
ambiente tropical sem destruir suas grandes regulaes
ecolgicas. A mata virgemtem muito de fantasia: como
hoje se comea a descobrir, boa parte da cobertura
vegetal amaznica o resultado de milnios de inter-
veno humana; a maioria das plantas teis da regio
proliferara diferencialmente em funo das tcnicas
indgenas de aproveitamento do territrio; pores
importantes do solo amaznico (no mnimo 12% da
superfcie total) so antropognicas, indicando uma
ocupao intensa e antiga. Em sntese, a foresta que
os europeus encontraram
ao invadirem o continente
o resultado da presena de
seres humanos, no de sua
ausncia. Naturalmente, no
qualquer forma de presen-
a humana que capaz de
produzir uma foresta como
aquela. importante observar
que as populaes indgenas
estavam articuladas ao am-
biente amaznico de maneira
muito diferente do complexo
agroindustrial do capitalismo
tardio (ver O que foi a Revoluo Verde?, pg. 415).
Em outras palavras, para a foresta amaznica, muito
Kuikuru no a mesma coisa que muito gacho.
Presentes
Os cem ou mais sculos de presena indgena na
Amaznia nos deram presentes como a castanheira, a
pupunha, o cacau, o babau, a mandioca, a borracha,
dezenas de espcies de madeira de lei, guas limpas e
abundantes, uma fauna rica e uma variedade de outros
componentes da economia tropical. No vai ser incen-
diando milhes de hectares de foresta para plantar soja
ou fazer pasto, roubando milhares de toneladas cbicas
de madeira nas barbas dos agentes fscalizadores, ou
poluindo rios inteiros com o mercrio dos garimpos que
se vai desenvolver a Amaznia.
Nesse momento em que as megaplantaes de
soja se aproximam de Santarm (PA) ou transformam o
Parque Indgena do Xingu em uma ilha verde cercada por
um oceano de palha encharcada de agrotxicos, parece
que est na hora de dar uma paradinha para pensar. De
fato, as pesquisas tm mostrado que a foresta virgem
da Amaznia nada tem de virgem, pois os ndios vm
sabendo estabelecer com ela uma relao mutuamente
fecunda h milnios. E afnal, para diz-lo de maneira
crua, o fato de uma pessoa no ser mais virgem no
autoriza ningum a estupr-la, no mesmo?
N
I
A
L
O
R
E
N
Z
/
I
S
A
Petroglifo, Iauaret, Alto Uaups (AM), 2003.
A
M
A
Z
N
I
A
104 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
Aliada falta de recursos para pesquisa na regio, a
biopirataria tambm representa uma ameaa aos recursos
da Amaznia. Aproveitando-se de um vazio na legislao
brasileira, que no probe o registro de espcies animais ou
vegetais, grupos internacionais tm se apoderado de alguns
dos nomes mais populares da nossa biodiversidade,
atravs de patentes em vrias partes do mundo. Desde a
quebra-pedra, patenteada na dcada de 1990, passando
pela andiroba, aa e copaba, so mais de 50 produtos
roubados ou visados para apropriao das populaes
tradicionais da Amaznia. A mais recente espcie da lista
o cupuau, que a empresa japonesa Asahi Foods cuja
pronncia aa tentou patentear na Europa, Estados
Unidos e Japo, s no consumando a pilhagem por causa
da reao de instituies nacionais (ver Recursos Gen-
ticos, pg. 254).
Alternativas
A riqueza da Amaznia, regio de solos pobres e de
alta pluviosidade, est na foresta em p e na implemen-
tao de um novo modelo de desenvolvimento, baseado
na sustentabilidade ambiental e uso responsvel dos
recursos naturais. As pesquisas e a prtica demonstram
que a explorao sustentvel da foresta na Amaznia
uma atividade mais rentvel e que gera mais empregos do
que outras, s quais tem sido dada prioridade pelo governo,
como a agropecuria.
Entre as medidas para garantir essa explorao
sustentvel esto o controle da origem da madeira ex-
plorada na Amaznia (como, por exemplo, a certificao
pelo FSC, uma entidade internacional com representao
no Brasil) e a vinculao de financiamentos apenas a ati-
vidades que no representem desmatamento (o Banco da
Amaznia, responsvel por 82% do crdito de fomento
e 42% do crdito total na regio, se comprometeu a
seguir essa linha).
Outra opo seria uma moratria ou reviso dos
grandes projetos propostos pelo governo at a realizao
e apresentao de estudos de impacto ambiental e social
qualificados, com a participao do Ministrio Pblico
Federal e da sociedade civil organizada. Entre os projetos
esto os gasodutos Urucu-Coari, Urucu-Porto Velho e
Urucu-Manaus, as hidrovias nos rios Madeira e Araguaia-
PAR: MUITO RECURSO E POUCO
DESENVOLVIMENTO
Mesmo tendo o segundo maior territrio do
Pas, a nona populao, ser o segundo principal
minerador, o nono maior exportador, o sexto em
saldo de divisas, o terceiro maior produtor mundial
de bauxita e caulim, a unidade federativa que
mais exporta minrio de ferro do mundo, o Estado
brasileiro que mais vende madeira no mercado in-
terno, o Par o 16 em desenvolvimento humano
(segundo o IDH, da ONU) e o 19 em desenvol-
vimento juvenil (pelo IDJ, criado e aplicado pela
primeira vez em 2003 pela Unesco).
ZOOM
B
E
T
O
R
I
C
A
R
D
O
/
I
S
A
Belm (PA), 2002.
B
E
T
O
R
I
C
A
R
D
O
/
I
S
A
Petrobrs, Urucu (AM), 1996.
A
M
A
Z
N
I
A
105 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
MSICA DA AMAZNIA
GUSTAVO PACHECO
Em sua rea imensa, a Amaznia abriga alguns
dos gneros musicais mais tradicionais e menos
conhecidos do resto do Pas, especialmente os
muitos tipos de msica encontrados nas mais de 170
naes indgenas que habitam a regio. Ao mesmo
tempo, aqui encontramos alguns dos gneros mais
cosmopolitas da msica brasileira, em permanente
dilogo com a msica dos pases vizinhos. o caso,
por exemplo, da msica para danar infuenciada
pelo zouk, cumbia, merengue e outros ritmos cari-
benhos. Em toda a regio, ritmos tradicionais como
o marabaixo das comunidades negras do Amap
ou o carimb dos pescadores paraenses convivem
com o brega e outros gneros populares cuja dis-
seminao e vitalidade esto ligadas ao acesso
tecnologia digital. Esse encontro entre tradio e
modernidade aparece de forma mais expressiva na
simbiose entre folclore e indstria cultural represen-
tada pela festa do boi-bumb de Parintins, que se
tornou conhecida internacionalmente sem deixar
de ser uma manifestao com razes profundas no
povo amazonense (ver A identidade brasileira
atravs da msica, pg. 68).
VOC SABIA?
M
Maior peixe do mundo, o pirarucu encon-
trado no Amazonas e atinge at 2,5 metros de
comprimento e 250 quilos.
M
Maior for do mundo, a vitria-rgia tambm
da Amaznia e chega a medir 2 metros de
dimetro.
M
As forestas inundadas ocupam cerca de 8%
do bioma amaznico, tendo como principal carac-
terstica a futuao cclica dos rios, que podem
atingir at 14 metros, entre as estaes seca e
enchente, resultando em inundaes peridicas
de grandes reas ao longo de suas margens.
M
Metade das escolas pblicas da Amaznia
Legal no tem energia eltrica. A informao
do Inpe, que avaliou a situao por municpio a
partir das informaes colhidas no Censo Escolar
de 2002. No Acre, 62% das escolas no tm luz
eltrica. No Par so 57,1%. O estado em melhor
condio o Amap onde apenas 25,8% das
escolas do ensino bsico esto no escuro.
M
A segunda zona produtora de petrleo do
Brasil, em terra, a da bacia de Coari-Urucu,
no Amazonas.
M
A maior fbrica de alumnio do continente
a Albrs, formada pela Companhia Vale do Rio
Doce e um consrcio japons, a 40 quilmetros
de Belm, no Par, em atividade desde 1985, e
que, sozinha, responsvel por 1,5% de todo
consumo de energia do Brasil.
M
Apesar de ter um quinto da gua superfcial
do mundo, a Bacia Amaznica tem a populao
pior servida em matria de abastecimento de
gua e esgoto em todo Pas.
M
As isenes concedidas pela Zona Franca de
Manaus representam um tero de tudo que o
governo federal deixa de arrecadar de impostos
com o objetivo de promover o desenvolvimento
regional e trs vezes mais do que o saldo das
exportaes das outras regies da Amaznia.
B
E
T
O
R
I
C
A
R
D
O
/
I
S
A
ndio do alto Rio Negro com fautas de p.
A
M
A
Z
N
I
A
106 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
Tocantins, as barragens hidreltricas do Complexo Madeira,
de Belo Monte e dos rios Araguaia e Tocantins, alm das
rodovias como a Cuiab-Santarm, Manaus-Porto Velho,
Rio Branco-Cruzeiro Sul.
As obras de infra-estrutura na Amaznia devem ser
acompanhadas pela criao de unidades de conservao
para evitar maior presso sobre os recursos naturais. Um
processo efetivo de criao e implementao de unidades
de conservao deve tambm criar corredores de biodi-
versidade, capazes de funcionar como barreira ao avano
do desmatamento.
Alm disso, preciso garantir a proteo dos conhe-
cimentos das populaes tradicionais e indgenas, em
suas reas de existncia, e polticas adequadas de etno-
desenvolvimento, para combater a biopirataria. Outra
medida essencial efetivar a homologao de todas as terras
indgenas, como aconteceu com a Raposa Serra do Sol (em
Roraima), homologada em abril de 2005, onde est uma das
maiores concentraes de populao ndia do Pas.
Tambm recomendvel o apoio fnanceiro e tcnico
s redes de produo sustentvel na rea de pesquisa de
produtos, mercados, comercializao e certifcao. Se-
gundo a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, o Mato
Grosso tem entre 12 e 15 milhes de hectares abandonados.
Aproveitando essas reas, seria possvel dobrar a produo
de gros naquele Estado sem cortar mais uma rvore, ou
utiliz-las para a nascente atividade de gerao de biocom-
bustveis, desde que sua implantao seja antecipada por
pesquisas cientfcas visando defnir as aptides do solo e
o equilbrio ecolgico.
O Ministrio do Meio Ambiente, tentando reverter a
tendncia do desmatamento, concebeu, em 2002, e est
comeando a executar agora o mais ambicioso empreen-
dimento ecolgico em andamento no Pas, o Projeto de
reas Protegidas da Amaznia (Arpa). Com vigncia at
RECEITA AMAZNICA
Pachic*
Todos os midos da tartaruga (fgado, rim,
corao, bob e bucho)
1 quilo de farinha dgua de mandioca
1 cebola
1 tomate
3 dentes de alho
l/2 pimento verde pequeno
1 pimenta verde pequena
1 pimenta de cheiro
150 ml de azeite
A gosto: temperos verdes da Amaznia
(alfavaca, chicria, cheiro verde)
A gosto: sal
A gosto: pimenta do reino
M
Escaldar e limpar muito bem os midos.
Cortar tudo: midos e temperos em pedacinhos.
Colocar em uma panela para refogar com o
sangue os midos e os temperos. Quando estiver
tudo bem refogado acrescentar a farinha dgua
de mandioca.
M
Servir no casco da tartaruga guarnecido
com rodelas de tomate, cebola, pimento e
ramos de salsa.
* Embora a tartaruga de gua doce no seja um
animal em extino, s pode ser comercializada a
partir de criatrios registrados no Ibama.
2012, dever absorver 400 milhes de dlares na criao,
consolidao e monitoramento de reas protegidas para o
bioma Amaznia. Abranger rea de 500 mil km
2
e dever
triplicar a rea protegida na Amaznia brasileira, elevando
dos atuais 4% para 12% o total do bioma sob proteo.
Quando concludo, o programa ter criado 50 milhes de
hectares de UCs de proteo integral e de uso sustentvel,
com sua infra-estrutura consolidada e apta a cumprir a
misso de conservao da biodiversidade amaznica.
SAIBA MAIS Capobianco, Joo Paulo Ribeiro (Co-
ord.). Biodiversidade na Amaznia brasileira: ava-
liao e aes prioritrias para a conservao, uso
sustentvel e repartio de benefcios. So Paulo:
Estao Liberdade: Instituto Socioambiental, 2001.
C
A
A
T
I
N
G
A
107
AMBIENTES
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
CAATINGA
CRISTIANE FONTES*
Conhecida como a regio do Pas onde o acesso gua escasso e a paisagem pobre,
a Caatinga, nico bioma exclusivamente brasileiro, vtima de um processo de ocupao
que explorou a natureza de forma predatria, concentrando terra e poder
*Jornalista, mestre em Mdia Interativa pelo Goldsmiths College, da Universidade
de Londres, e gerente do Programa de Comunicao em Mudanas Climticas
da Embaixada do Reino Unido. krikah@uol.com.br
A Caatinga abriga um Brasil das mais profundas contra-
dies e desigualdades sociais, com os mais baixos ndices
de desenvolvimento humano, com elevados percentuais de
populao empobrecida, decorrentes de um processo de ocu-
pao espacial que explorou a natureza de forma predatria,
concentrando terra e poder no domnio de poucos.
Um Brasil onde o acesso gua em muitos lugares ainda
no se consolidou como direito bsico, mas que possui uma din-
mica articulao de organizaes da sociedade civil, que tomou
para si a responsabilidade de resolver este problema e mudar
uma paisagem ainda dominada por oligarquias polticas.
Um Brasil onde mais de 30% da energia gerada por le-
nha retirada da natureza de forma predatria, mas que abriga
um complexo hidreltrico que fornece energia para as grandes
metrpoles nordestinas e para todo o seu parque industrial.
Um Brasil que h mais de um sculo expulsa sua populao
para outras regies do Pas como mo-de-obra barata. Um
Brasil em que boa parte da populao passa fome.
A paisagem da Caatinga refete um clima de abundncia
de raios solares, com temperaturas elevadas na maior parte
do ano; de chuvas escassas e irregulares, com longos perodos
de secas e precipitao anual mdia variando, aproxima-
damente, entre 400 e 650 mm; de rios intermitentes e
sazonais, com volume de gua limitado, insufciente para a
irrigao, com exceo do Parnaba e do So Francisco; e de
uma paisagem onde boa parte dos solos so rasos e pedre-
gosos e o subsolo abriga grandes rios subterrneos.
Tem ainda uma rica biodiversidade vegetal e animal,
que no de toda conhecida, onde abundam cactos e uma
Serra da Capivara (PI), 2004.
A
U
R
E
L
I
A
N
O
M
L
L
E
R
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
C
A
A
T
I
N
G
A
AMBIENTES
108 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
infnidade de espcies endmicas. Mas essa apenas
uma parte da histria do nico bioma brasileiro distribudo
exclusivamente em territrio nacional e que, assim como o
Cerrado, no foi considerado Patrimnio Natural do Pas na
Constituio de 1988.
As caatingas
O nome Caatinga tem origem tupi-guarani e signifca
foresta branca, um retrato tpico da vegetao onde, durante
a seca, as plantas perdem suas folhas para reduzir a perda de
gua e os troncos adquirem um tom branco-acinzentado.
Est distribuda em 844 mil km2, que correspondem a
9,92% do territrio nacional, 60% do Nordeste ou 1,2 mil
municpios. Engloba integralmente o Cear, a maior parte
do Rio Grande do Norte (95%), da Paraba (92%) e de Per-
nambuco (83%), mais da metade do Piau (63%) e da Bahia
(54%), quase metade de Alagoas (48%) e Sergipe (49%) e
pequenas pores de Minas Gerais (2%) e do Maranho
(1%), de acordo com o Mapa de Biomas do Brasil, lanado
em 2004 pelo Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica
(IBGE) em parceria com o Ministrio do Meio Ambiente.
Ao contrrio de uma paisagem homognea como geral-
mente veiculada noutras regies, existem 12 tipos diferentes
de caatingase ambientes associados. H desde forestas altas
e secas com rvores de at 20 metros de altura, a chamada
caatinga arbrea, at aforamentos de rochas com arbustos
baixos e esparsos, com cactos e bromlias saindo das fendas do
solo, como descrito no Ecologia e Conservao da Caatinga, um
dos mais completos livros sobre o bioma menos estudado do
Pas. H ainda o mediterrneosertanejo, defnido por Darcy
Ribeiro em O Povo Brasileiro, dos brejos forestais, vrzeas e
serras; reas mais midas e de clima mais ameno.
So 932 espcies de plantas, sendo 318 endmicas. A
adaptao ao clima semi-rido resultou em plantas tortuosas,
de folhas pequenas e fnas ou at reduzidas a espinhos, com
cascas grossas e sistemas de razes e rgos especfcos para
o armazenamento de gua, como os cactos, sendo predo-
minantes o mandacaru (Cereus jamacaru) e o xique-xique
(Pilosocereus gounellei), as barrigudas (Cavanillesia arborea), o
pau-moc (Luetzelburgia auriculata) e o umbuzeiro (Spondias
tuberosa), descrito como a rvore sagrada do serto por
Euclides da Cunha, em Os Sertes, porque alm de saciar a sede
do sertanejo tem mltiplos usos. Das folhas, saem saladas;
do fruto, polpa para sucos, licor e doces; e da raiz, farinha
comestvel, ou vermfugo.
Plantas medicinais
O uso medicinal das plantas, alis, muito difundido
pela populao que habita a regio da Caatinga, sendo
folhas, razes e cascas, entre as quais as da catingueira (an-
tidiarrica), do jerico (diurtico) e do angico (adstringente),
itens obrigatrios das tradicionais feiras e mercados locais.
Criado em 1985, o projeto Farmcias Vivas, da Universidade
Federal do Cear, j selecionou e comprovou cientifcamente
a efccia de mais de 60 espcies de plantas medicinais do
Nordeste, como as caractersticas antiinfamatria e cica-
trizante da aroeira-do-serto (Myracrodruom urundeuva),
uma das plantas de uso ginecolgico mais comum e antigo
da medicina popular do Nordeste no tratamento ps-parto.
Unindo sabedoria popular e conhecimento cientfico, a
proposta, pioneira, que fornece acesso a atendimento
ftoterpico a comunidades carentes do Estado, motivou o
governo do Cear a criar o Programa Estadual de Fitoterapia,
que tem sido replicado em diferentes partes do Pas.
Outra rvore nativa da Caatinga de grande importncia
por suas mltiplas utilidades a sabi (Momosa caesalpi-
nifolia), que fornece madeira de excelente qualidade para
estacas, para o plantio em cerca-viva, para alimentar as
abelhas com suas fores e como forragem com suas folhas.
Planta adubadeira e produtora de corante.
LIMITES DA CAATINGA
C
A
A
T
I
N
G
A
109
AMBIENTES
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
UM P DE QU ?
JUAZEIRO
Se primeira vista a Caatinga parece s ter rvores
feias e retorcidas, quando a gente chega perto ou vive
l por um tempo, descobre que ela cheia de surpresas
e revelaes.
Voc j teve caspa? Usou um xampu para com-
bat-la? Pois , nele tinha o ju. Conhece a saponina,
uma substncia que faz uma espuma louca e usada
em pasta de dente e produtos de limpeza?
O ju a fruta do juazeiro, rica em vitamina C,
e a saponina uma substncia extrada de raspas
do tronco e da fruta dessa rvore, uma das poucas
plantas cujo nome cientfico igual ao popular:
Zizyphus juazeiro. Sua altura varia entre 5 m e 14
m e o tronco tem entre 30 cm e 50 cm de
dimetro. A copa da rvore d uma
bela sombra no calor do serto e
a ltima a perder as folhas
durante os perodos mais
secos. Ju uma palavra
indgena. E como o ndio
raramente escreve o
que fal a, ni ngum
tem prova se a grafa
correta assim ou
assado. Isso deu margem
a uma polmica sobre a grafa
do juazeiro: com u? Ou com
o, joazeiro?
Na cidade de Juazeiro, na Bahia, o tema
est longe de ser consenso. Certamente a origem
do nome da rvore est na origem dessa cidade, na
beira do Rio So Francisco. Alis, sobre o Velho Chico,
sabe por que as pessoas so to agarradas com esse
Rio? Porque s sair da beira dele um pouquinho
que para dentro j o serto, a Caatinga, com seu
clima seco e rido.
na beira do So Francisco, em um lugar conhe-
cido como a Passagem dos Juazeiros, que os tropeiros
descansavam das longas viagens que faziam entre o
Norte, Nordeste e o Sul do Brasil. Essa Passagem era
o ponto de encontro de duas estratgicas entradas
para o interior do Pas no sculo XVII: a estrada dos
bandeirantes e o prprio rio. Comearam a construir
algumas casas bem nesse ponto de encontro. Depois
outras, e, em 1833, a Passagem dos Juazeiros foi
elevada categoria de vila. Em 1878, virou cidade,
e, hoje, em vez de estrada dos bandeirantes, tem
a BR-116.
A padroeira de Juazeiro tambm apareceu nessa
Passagem. Contam que, em 1706, um ndio estava cui-
dando do gado quando achou uma imagem de Nossa
Senhora em uma grota (pequenos barrancos
na beira do rio abertos pela gua
quando fca revolta). Chamou o
Frei Henrique para ver a santa e
o religioso, a partir daque-
le dia, nomeou aquela
imagem de Nossa
Senhora das Grotas,
padroei ra de Jua-
zeiro. At hoje a
imagem da santa
est na catedral
da cidade.
Mas voltando
ao juazeiro e sua fruta,
o ju, ele no tem apenas
poderes cientfcos, como a capacidade da saponina
de fazer uma espuma enorme e combater a caspa.
Ele tem tambm poderes sobrenaturais! Ramos de
juazeiro em casa trazem sorte, sade, paz e dinheiro.
Mas isso caso de crer ou no crer.
SAIBA MAIS Pindorama Filmes (www.pindorama
flmes.com.br; www.futura.org.br).
VEJA TAMBM A transposio do rio So Francis-
co (pg. 124).
I
L
U
S
T
R
A
O
R
U
B
E
N
S
M
A
T
U
C
K
C
A
A
T
I
N
G
A
AMBIENTES
110 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MUDAN A C L I MT I C A
Com as mudanas climticas, a Caatinga pode dar lugar a uma vegetao mais tpica de zonas ridas, com
predominncia de cactceas. O desmatamento da Amaznia tambm afetar a regio.
O clima mais quente e seco poderia ainda levar a populao a migrar para as grandes cidades da regio ou para
outras regies, gerando ondas de refugiados ambientais, aumentando assim os problemas sociais j existentes
nos grandes centros urbanos do Nordeste e do Brasil.
M
Um aumento de 3C ou mais na temperatura mdia deixaria ainda mais secos os locais que
hoje tm maior dfcit hdrico no semi-rido.
M
A produo agrcola de subsistncia de grandes reas pode se tornar invivel, colocando a
prpria sobrevivncia do homem em risco.
M
O alto potencial para evaporao do Nordeste, combinado com o aumento de temperatura,
causaria diminuio da gua de lagos, audes e reservatrios.
M
O semi-rido nordestino fcar vulnervel a chuvas torrenciais e concentradas em curto espao de
tempo, resultando em enchentes e graves impactos socioambientais. Porm, e mais importante,
espera-se uma maior freqncia de dias secos consecutivos e de ondas de calor decorrente do
aumento na freqncia de veranicos.
M
Com a degradao do solo, aumentar a migrao para as cidades costeiras, agravando ainda
mais os problemas urbanos.
O Sistema Brasileiro de Alerta Precoce de Secas e Desertifcao, projeto do Ministrio do Meio Ambiente e
Inpe, visa criao e implantao de um sistema que permita trabalhar com a questo mais imediata que so
as grandes secas episdicas que atingem a regio, assim como a criao de uma ferramenta de diagnstico para
identifcar as reas mais afetadas pela degradao ambiental, e mais suscetveis desertifcao.
VEJA TAMBM Brasil (pg. 70); O Brasil e a Mudana Climtica (pg. 365).
G
E
Y
S
O
N
M
A
G
N
O
Desertifcao em Nova Petrolndia (PE), 2000.
C
A
A
T
I
N
G
A
111
AMBIENTES
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Prosa & Verso
Vozes da Seca
Seu dout os nordestino tm muita gratido
Pelo auxlio dos sulista nessa seca do serto
Mas dout uma esmola a um homem qui so
Ou lhe mata de vergonha ou vicia o cidado
por isso que pidimo proteo a vosmic
Home pur nis escudo para as rdias do pud
Pois dout dos vinte estado temos oito sem chov
Veja bem, quase a metade do Brasil t sem cum
D servio a nosso povo, encha os rio de barrage
D cumida a preo bom, no esquea a audage
Livre assim nis da ismola, que no fm dessa estiage
Lhe pagamo int os juru sem gastar nossa corage
Se o dout fzer assim salva o povo do serto
Quando um dia a chuva vim, que riqueza pra nao!
Nunca mais nis pensa em seca, vai d tudo nesse cho
Como v nosso distino merc tem nas vossa mos
(Luiz Gonzaga/Z Dantas)
O sabiazeiro, a catingueira e o angico, assim como o
juc, o moror, a catanduva e a jurema-preta, entre outras
espcies, so tambm utilizadas em residncias e indstrias
para a produo de lenha e carvo vegetal para a gerao
de energia e como matria-prima para a construo de
habitaes e alimentao de animais. Recursos naturais
retirados, na grande maioria das vezes, de forma predatria.
Segundo dados do Ministrio do Meio Ambiente, o consumo
de madeira nas residncias de 39 milhes de metros
esteres/ano (metro cbico de madeira retorcida, tpica
do semi-rido) e nas indstrias, de 29 milhes de metros
esteres/ano. De acordo com o prefcio do ex-presidente do
Ibama, Marcus Barros, para o Ecologia e Conservao da
Caatinga, hoje difcil encontrar remanescentes maiores
do que 10 mil hectares no bioma.
Realizada em 2006, a atualizao do estudo de Avalia-
o e Identifcao de reas e Aes Prioritrias para Conser-
vao e Utilizao Sustentvel e Repartio de Benefcios da
Biodiversidade Brasileira, compromisso do governo brasileiro
como signatrio da Conveno sobre Diversidade Biolgica
(CDB), identifcou 292 reas prioritrias para a conservao
da Caatinga. Essas reas equivalem a 51% da extenso total
do Bioma, totalizando 442.564 km2.
A criao de unidades de conservao (UCs) foi a ao
mais recomendada para as reas prioritrias (24,6%), se-
guida de recuperao de reas degradadas (9,4%), a criao
de mosaico/corredor (5,11%) e fomento ao uso sustentvel
QUEM FAZ A HISTRIA
JOO DE VASCONCELOS SOBRINHO
O engenheiro agrnomo e eclogo Joo de Vasconcelos Sobrinho, um dos fundadores da Associao Per-
nambucana de Defesa da Natureza (Aspan) e um dos fundadores da Universidade Federal Rural de Pernambuco,
onde introduziu a disciplina Ecologia da Conservao, foi o pioneiro no Pas nos estudos sobre os processos de
desertifcao no Nordeste brasileiro.
Autor de mais de 30 livros, entre os quais As Regies Naturais do Nordeste, o Meio e a Civilizao, o Catecismo da Ecologia,
a Problemtica Ecolgica do Rio So Francisco e O Grande Deserto Brasileiro, no qual previu a formao de um deserto que
ocuparia toda a Caatinga, se estenderia pelo Centro-Oeste e atingiria a fronteira do Paraguai. Sua tese se desdobrou no
conceito de Ncleos de Desertifcao, adotado pelo governo. Em 1977, foi coordenador do Relatrio Nacional apresentado
na Conferncia sobre Desertifcao em Nairobi, realizada pela Organizao das Naes Unidas (ONU). Em homenagem
data de nascimento de Sobrinho, 28 de abril foi institudo como o Dia Nacional da Caatinga em 2003.
C
A
A
T
I
N
G
A
AMBIENTES
112 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
PARQUE NACIONAL SERRA DA CAPIVARA
NIDE GUIDON*
O Parque Nacional Serra da Capivara, no sudeste
do Piau, tem uma rea de 130.000 ha, com um relevo
tpico de chapadas e serras. O clima da regio semi-
rido e a estao seca dura de cinco a seis meses. Em
pocas pr-histricas, as condies ambientais eram
diferentes. Um clima tropical mido perdurou at cerca
de 10.000/9.000 anos atrs, a vegetao era abundante
e garantia condies de alimentao para uma fauna,
na maioria, herbvora. Durante milnios, espcies da
megafauna existiram na regio e coabitaram com
grupos humanos e com a fauna de pequeno porte. As
espcies mais representadas eram a preguia-gigante,
o tigre-de-dente-de-sabre, o mastodonte, lhamas e o
tatu-gigante.
Os primeiros grupos humanos chegaram regio
h 100.000 anos. Instalaram-se lentamente, desenvol-
vendo uma cultura adaptada s condies ambientais.
H vestgios muito antigos em trs stios abertos *Arqueloga, presidente da Fundao Museu do Homem Americano
visitao: Boqueiro da Pedra Furada, Stio do Meio e
Caldeiro do Rodrigues.
Os abrigos-sob-rocha so formados pela eroso
que, agindo na base dos paredes rochosos, vai de-
sagregando a parte baixa das paredes fazendo com
que se forme, no alto, uma salincia que funciona
como um teto. Com o progresso da eroso, fratura-se
e desmorona. Os homens utilizaram os abrigos como
acampamento, local de enterramentos e suporte para
a representao grfca da sua tradio oral. Sobre os
vestgios deixados por um grupo humano, a natureza
depositava sedimentos. Novos grupos, novos vestgios,
nova sedimentao. A repetio desse ciclo durante mi-
lnios forma as camadas arqueolgicas, nas quais so
encontrados elementos que permitem a reconstituio
da vida dos povos pr-histricos.
O stio Boqueiro da Pedra Furada encontra-se a
19 m acima do nvel do vale, protegido por grandes
blocos originrios do desmoronamento do paredo
Pedra furada, Parque Serra da Capivara (PI).
P
I
O
F
I
G
U
E
I
R
O
A
/
S
A
M
B
A
P
H
O
T
O
C AR TO P OS TAL AME A ADO
C
A
A
T
I
N
G
A
113
AMBIENTES
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
rochoso. A formao das camadas arqueolgicas deste
stio durou 100.000 anos. As escavaes, iniciadas em
1978, duraram dez anos e permitiram a descoberta dos
mais antigos vestgios, at hoje conhecidos, da presena
humana nas Amricas: fogueiras estruturadas e uma
grande quantidade de artefatos de pedra lascada. Os
pequenos vestgios mais antigos de pinturas datam
de 23.000 anos e 17.000 anos, enquanto que pinturas
representando temas semelhantes aos que subsistem
hoje nas paredes foram pintadas, no mnimo, entre
12.000 e 6.000 anos atrs.
No perodo Pleistocnico, as populaes j prati-
cavam atividades grfcas. As pinturas rupestres so a
manifestao mais abundante e espetacular deixada
pelas populaes pr-histricas. Fragmentos de parede,
com traos de pintura, foram achados cados sobre solos
arqueolgicos. Sobre as paredes dos abrigos existe uma
densa quantidade de pinturas rupestres realizadas
durante milnios. As representaes animais so muito
diversifcadas, sendo possvel reconhecer espcies ine-
xistentes hoje na regio e outras totalmente extintas,
como cameldeos e preguias-gigantes. H reprodues
de capivaras, veados galheiros, caranguejos, jacars e
certas espcies de peixes, hoje desaparecidas.
A partir do incio do Holoceno, as chuvas diminu-
ram. A vegetao tambm diminui, as fontes de alimen-
tao se tornam escassas e a megafauna desaparece
totalmente, junto com as espcies dos ecossistemas
midos. As transformaes no afetam a sobrevivncia
dos grupos humanos. Um novo perodo cultural comea a
ser desenvolvido pelas populaes implantadas na regio
entre 12.000 e 3.500 anos atrs. Trata-se dos mesmos
grupos tnicos que povoaram a regio anteriormente
que se adaptam s novas exigncias do meio ambiente.
Essas populaes so conhecidas como povos de tradio
Nordeste e desenvolvem uma cultura material com
tcnicas cada vez mais aprimoradas.
A partir de 3.500-3.000 anos atrs, encontramos os
primeiros vestgios deixados por povos agricultores, mas
esta prtica pode ter existido anteriormente. Entre 3.000 e
1.600 anos, encontramos vestgios de povos que viviam em
aldeias de forma circular. Os primeiros ceramistas aparecem
por volta de 8.900 anos atrs. Temos ainda registros da
presena desses grupos at o perodo colonial, quando
foram exterminados.
A Fundao Museu do Homem Americano (Fumdham)
foi criada pelos pesquisadores da Misso Franco-Brasileira
do Piau, em 1986, em So Raimundo Nonato. Em parceria
com o Iphan e com o Ibama, a Fumdham participa dos
trabalhos de proteo e preservao dos patrimnios
cultural e natural da regio do Parque Nacional. A Fun-
dao elaborou o Plano de Manejo do Parque, defnindo,
como nica maneira de assegurar sua proteo, alcanar
o desenvolvimento econmico e social da regio. Estudos
defniram que, em razo do solo pobre e do clima irregular,
com secas cclicas, somente apicultura e turismo podem
ser fontes seguras de produo e criao de mercados de
trabalho com salrios dignos. Desde 1989 foram criadas
escolas e os trabalhos de preparao do Parque para receber
turistas tiveram incio.
Em 1990, a Fumdham preparou documentao para
que o governo brasileiro pudesse solicitar a incluso dos
stios de pintura rupestre da regio na lista do Patrimnio
Cultural da Humanidade, ttulo concedido em 1991 (ver
Bens Culturais, pg. 270).Hoje o Parque conta com 28
guaritas (trs pblicas e 25 de servio) e um corpo de mais
de 50 vigilantes que est evitando a ao dos caadores e
permitindo a recomposio das populaes animais. Em
algumas zonas, onde a eroso estava destruindo a cober-
tura vegetal e criando enormes voorocas, foi iniciado o
manejo da foresta e construdas cercas e barreiras para
diminuir a fora das enxurradas, estancando assim o
processo erosivo. Em reas do Parque, mais atingidas pela
ao antrpica, foi iniciado o reforestamento, tendo
alcanado at 15% de sucesso nos trs primeiros anos.
O Parque conta com uma infra-estrutura que via-
biliza a visitao de 128 stios rupestres pr-histricos e
um Centro de Visitantes, que oferece diferentes servios.
O stio do Boqueiro da Pedra Furada foi transformado em
museu a cu aberto. Os assentamentos, nos quais vivem
muitos caadores, e as queimadas anuais so as principais
ameaas a este patrimnio nico no mundo.
C
A
A
T
I
N
G
A
AMBIENTES
114 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
(2,18%). Atualmente, as unidades de conservao (UCs)
correspondem a apenas 2% da rea total do bioma. Os
cientistas defendem a ampliao para 10% da rea total
protegida por UCs na Caatinga no prazo de dez anos. Dentre
as reas de extrema importncia biolgica esto o Raso da
Catarina (BA), a Chapada do Araripe (CE, PE e PI) e o Parque
Nacional da Serra da Capivara (PI), mais emblemtico da
regio por ser o nico localizado inteiramente na Caatinga,
para o qual foi sugerida a conexo com o Parque Nacional
da Serra das Confuses (PI).
O Ministrio do Meio Ambiente criou, em maio de 2006,
o Corredor Ecolgico da Caatinga, uma rea de 5,9 milhes
de hectares que deve interligar oito UCs, compreendendo 40
municpios de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Piau.
Em abril de 2007, foi lanada a Aliana pela Caatin-
ga, projeto que tem como meta duplicar as 35 Reservas
Particulares do Patrimnio Natural (RPPNs) do bioma,
distribudas em 110 mil hectares, em trs anos. Participam
da iniciativa a Associao Caatinga e a The Nature Conser-
vancy (TNC), preocupadas com o avano do agronegcio na
regio, especialmente com o novo mercado de mamona e
pinho-manso para a produo de biocombustiveis (ver
Combustveis, pg. 348).
VOC SABIA?
M
De acordo com a declarao fnal da I Confe-
rncia Nacional de Educao para a Convivncia
com o Semi-rido (Conesa), realizada em maio
de 2006, mais de 350 mil crianas, entre 10
e 14 anos, no freqentam a escola, mais de
317 mil crianas e adolescentes trabalham e
a infra-estrutura de educao atende a menos
de 20% das necessidades do semi-rido. O
documento, elaborado pela Rede de Educao
do Semi-rido Brasileiro (Resa), concluiu que,
o fato dos materiais didticos utilizados serem
produzidos principalmente no Sudeste, faz com
que eles sejam desarticulados da realidade
local e propagadores das vulnerabilidades da
regio, assim como so os currculos escolares.
Alm disso, no existem polticas de formao
inicial e continuada para educadores, a fm de
contemplar a discusso sobre a convivncia da
populao com a regio.
S
H
E
I
L
A
O
L
I
V
E
I
R
A
Carnabas sobreviventes da devastao provocada pela carcinicultura, Aracati (CE).
C
A
A
T
I
N
G
A
115
AMBIENTES
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MUSEU DO SEMI-RIDO
Inaugurado em maio de 2007, o Museu
Interativo do Semi-rido (MISA), idealizado pelo
Programa de Estudos e Aes para o Semi-rido
da Universidade Federal de Campina Grande,
tem como objetivo divulgar a cultura e os conhe-
cimentos do povo sertanejo, a beleza natural e a
importncia da Caatinga e denunciar a devastao
predatria, para desfazer a imagem de que o
Semi-rido Nordestino um ambiente inspito
e desinteressante.
A exposio Viver e Compreender o Semi-rido
est disponvel, permanentemente, em um salo
de 200 m2 no Campus Campina Grande da UFCG,
com painis explicativos e ilustrativos, peas
de barro, roupas de couro, folhetos de cordis,
utenslios domsticos, entre outros; em mostras
itinerantes, percorrendo inicialmente municpios
do Nordeste; e virtualmente acessvel no www.
museudosemiarido.org.br.
Diversidade pouco (re)conhecida
As aves so o grupo mais conhecido do bioma brasileiro
menos estudado pelos pesquisadores. Foram registradas na
Caatinga 510 espcies. O acau (Herpetotheres cachinnans),
gavio predador de serpentes, est associado ao universo
de supersties do sertanejo. Seu canto considerado
prenncio de chuva e de mau agouro.
A ararinha-azul (Cyanopsitta spixii), hoje extinta na
natureza vtima do trfco de animais silvestres, uma das
muitas espcies que durante a seca se refugiavam em brejos de
altitude, beira de rios, entre outros locais mais midos. Outra
pequena parcela migra durante a seca para regies menos
inspitas, como o bigodinho (Sporophila lineola), que cruza a
Amaznia tendo como destino fnal a Venezuela.
A arriba (Zenaida auriculata noronha), tambm
conhecida como avoante, uma pomba da mesma famlia
da asa-branca, que migra, acompanhando a frutifcao
da fora no serto nordestino. A arribao chega no fm do
ZOOM
inverno, em bandos, nas caatingas, passando nos lugares
onde encontra o capim-milho, que a alimentao que
prefere. Sai em grandes revoadas, com a chegada das pri-
meiras chuvas. Est ameaada de extino, pois so presas
fceis para os caadores, por fazerem ninhos no cho.
O galo-da-campina (Paroaria dominicana), tambm
conhecido como cardeal-do-nordeste, um dos mais bo-
nitos pssaros brasileiros e vive na caatinga baixa e rala do
Nordeste. Alimenta-se principalmente de sementes e, por
ter um belssimo canto, muito perseguido pelos criadores
e pelos comerciantes de animais nativos.
Apesar do predomnio de rios temporrios e do cres-
cente desmatamento de matas ciliares e da contaminao
dos cursos d gua por esgotos, agrotxicos e efuentes
industriais, foi identifcada na Caatinga, surpreendente-
mente, uma grande diversidade de peixes. So 240 espcies,
57% endmicas. Algumas vivem em rios sazonais e como
estratgia de sobrevivncia depositam ovos resistentes, que
s eclodem na poca das chuvas.
As serpentes, os lagartos e os anfsbendeos, as chamadas
cobras-cegas, esto entre os grupos mais numerosos das
espcies de rpteis e anfbios, 154 no total, e tambm entre
as consideradas mais caractersticas da fauna do semi-rido.
Descobertas recentes indicam que 37% dos lagartos e anfsbe-
ndeos da Caatinga so endmicos das dunas do Mdio Rio So
Francisco, uma rea que se estende por apenas 7 mil km2, ou
0,8% da rea do serto nordestino, para a qual defendida a
criao de um parque nacional. O passado geolgico da regio
responde pela fascinante diversidade. O Rio So Francisco j
formou uma imensa lagoa no interior do Brasil, com espcies
de lagartos e anfbios ao seu redor. Com a alterao de seu
curso devido a alteraes climticas no fm do Perodo Pleis-
toceno - entre 1,8 milho e 11 mil anos atrs -, esses animais
fcaram separados em grupos, cada um em uma margem do
rio, o que estimulou a formao de novas espcies.
At o fim dos anos 1980, o nmero de mamferos
existentes na regio era subestimado em 80, e as espcies
endmicas em trs, considerados, em sua maior parte, um
subconjunto da fauna do Cerrado. Revises desses levan-
tamentos demonstram a distino da fauna da Caatinga e
apontam para a existncia de 144 mamferos na regio, dos
quais 64 so espcies de morcegos e 34 de roedores. Cerca
de dez das espcies de mamferos so endmicas e dez
C
A
A
T
I
N
G
A
AMBIENTES
116 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
esto ameaadas de extino, entre as quais cinco felinos e
o tatu-bola (Tolypeutes tricinctus), o menor tatu brasileiro,
de 22 a 27 centmetros, que enrola o corpo e fca parecido
com uma bola quando se sente ameaado. Assim como o
moc (Kerodon rupestris), um rato que chega a medir 40 cen-
tmetros, que fgura entre as espcies da caa de subsistncia
praticada pelo sertanejo para acabar com a fome.
De acordo com a lista nacional das espcies da fauna
brasileira ameaada de extino, publicada em maio de
2003 pelo Ibama, vivem no bioma 28 espcies ameaadas
de extino (ver Fauna, pg. 243).
ndices sociais preocupantes
Um dos biomas brasileiros mais alterados por atividades
humanas, a Caatinga abriga cerca de 28 milhes de pessoas;
a populao mais pobre do Nordeste e uma das mais pobres
de todo o Pas, com renda mdia sendo inferior a um salrio
mnimo. Defnido por Euclides da Cunha como antes de tudo
um forte, o sertanejo est presente em 68% da regio, sendo
que as reas extremamente antropizadas correspondem
a 35,3% e as muito antropizadas a 13,7%, porcentagens
possivelmente subestimadas, pois so baseadas no Mapa
de Vegetao do Brasil, do IBGE, produzido com dados
das dcadas de 1970 e 1980. Apesar disso, apenas 15
municpios apresentam densidade demogrfca acima de
100 habitantes por km2.
Cerca de 2 milhes de famlias de agricultores rurais vivem
no semi-rido, 50% dos pequenos agricultores do Pas, ocupan-
do apenas cerca de 4,2% das terras agrcolas do Brasil.
A grande maioria dos municpios apresenta baixo ndice
de Desenvolvimento Humano (IDH) e a taxa de mortalidade
alta, geralmente acima de 100 mil por mil. A taxa de analfa-
betismo para maiores de 15 anos tambm extremamente
elevada, entre 40% e 60% (ver Educao, pg. 444).
Marcas socioambientais:
o gado e o latifndio
A ocupao da regio pelos portugueses comeou com
a pecuria, desenvolvida para servir ao ciclo da cana-de-
acar. No agreste, depois nas caatingas e, por fm, nos
cerrados, desenvolveu-se uma economia pastoril associada
originalmente produo aucareira como fornecedora de
carne, de couros e de bois de servio, como exps Darcy
Ribeiro em O Povo Brasileiro, formando a civilizao do
gado, como defniu Manuel Correia de Andrade na obra A
Terra e o Homem do Nordeste.
Foi assim que se iniciou o processo de expulso, ex-
termnio e escravizao dos povos indgenas do serto, os
Tapuias, considerados hostis pelos colonizadores devido
s tentativas de resistncia, marcadas por diversos confitos
entre 1650 e 1720, relembrados como a Guerra dos Brbaros.
Os nativos sobreviventes, ou os que pediram socorro aos
colonizadores nos anos de secas severas, foram submetidos
MSICA DO SEMI-RIDO
GUSTAVO PACHECO
Uma das regies mais pobres do Brasil, o am-
biente semi-rido da Caatinga tambm uma das
reas musicalmente mais ricas do Pas. Aqui encontra-
mos algumas das expresses mais caractersticas da
msica tradicional brasileira, como a banda de pfanos
(tambm conhecida como banda cabaal, zabumba
ou esquenta mui), conjunto instrumental formado
por zabumba, tarol, pratos e dois ou mais pfanos
ou pifes, fautas feitas de taboca (bambu) ou PVC.
Formao compacta e verstil, a banda de pfanos
acompanha bailes, folguedos e festas religiosas.
A Caatinga tambm abriga grande variedade de
msica religiosa, como os cantos fnebres (tambm
conhecidos como excelncias ou incelenas), benditos
e ladainhas; msica para danar, como o baio, xote,
coco e outros gneros que se espalharam pelo resto
do Pas com o nome coletivo de forr; e uma longa
linhagem de repentistas e poetas cantadores, que
manejam com destreza mais de 60 modalidades
sofsticadas de improviso. Todas essas expresses
musicais tm em comum uma relao estreita com a
vida rural. Mestre Chico Aniceto, da clebre e centen-
ria Banda Cabaal dos Irmos Aniceto, do Crato (CE),
costumava dizer que sua tradio tinha nascido da
cultura: da cultura do algodo, da cultura do milho,
da cultura da cana-de-acar... (ver A identidade
brasileira atravs da msica, pg. 68).
C
A
A
T
I
N
G
A
117
AMBIENTES
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
PRECEITOS ECOLGICOS
DE PADRE CCERO*
M
No derrube o mato nem mesmo um s p
de pau.
M
No toque fogo no roado nem na Caatinga.
M
No cace mais e deixe os bichos viverem.
M
No crie o boi nem o bode soltos; faa cercados
e deixe o pasto descansar para se refazer.
M
No plante em serra acima nem faa roado
em ladeira muito em p; deixe o mato prote-
gendo a terra para que a gua no a arraste
e no se perca a sua riqueza.
M
Faa uma cisterna no oito de sua casa para
guardar gua de chuva.
M
Represe os riachos de cem em cem metros,
ainda que seja com pedra solta.
M
Plante cada dia pelo menos um p de
algaroba, de caju, de sabi ou outra rvore
qualquer, at que o serto todo seja uma
mata s.
M
Aprenda a tirar proveito das plantas da Caa-
tinga, como a manioba, a favela e a jurema;
elas podem ajudar a conviver com a seca.
M
Se o sertanejo obedecer a estes preceitos, a
seca vai aos poucos se acabando, o gado me-
lhorando e o povo ter sempre o que comer.
M
Mas, se no obedecer, dentro de pouco tem-
po o serto todo vai vivar um deserto s.
*Texto extrado do livro Pensamento Vivo de Padre Ccero, Ediouro, 1988.
homogeneizao nos aldeamentos missionrios, por meio
da catequese e da disciplina do trabalho.
Com a descoberta do ouro na regio das Gerais, a pecuria
foi intensifcada para suprir as migraes e a mo-de-obra
escrava, por meio do Velho Chico, e a atividade complementar
dos donos dos engenhos de cana-de-acar se transformou
em uma atividade especializada de criadores e ento se
constituram muitos dos maiores latifndios do Brasil.
Para alimentar os vaqueiros, responsveis por desbravar
o serto, a criao de cabras (caprinocultura), hoje uma
forte atividade econmica, foi introduzida nas reas menos
propcias ao gado. Alm de gerar carne, leite e queijo, a
criao de bodes se desdobrava em parte da indumentria,
como os chapus de couro, e na formao de algumas das
caractersticas sertanejas, segundo estudiosos, entre as
quais a indiferena em relao morte e a sangue, devido
familiaridade em abater esses animais desde a infncia.
Ainda no Brasil Colonial, o poder dos grandes propriet-
rios de terra foi ampliado com a criao da Guarda Nacional
do Imprio, para as quais eram nomeados coronis e seus
pees, soldados. Alm do controle econmico, passaram a
infuenciar a poltica local. Com a chegada da Repblica, que
institui o voto aberto e no secreto, os coronis determina-
vam os votos da populao por imposio ou favorecimen-
tos, como dinheiro, roupas ou empregos, o chamado voto
de cabresto, minuciosamente retratado no documentrio
Teodorico, o Imperador do Serto, de Eduardo Coutinho.
Desde ento, a estrutura fundiria pouco mudou. Pelo
contrrio, o ingresso de outras atividades esteve sempre
condicionado a ela. Do cultivo do moc, algodo arbreo, que
conquistou espao destacado na economia regional no sculo
XIX, passando pela explorao dos palmais de carnaba, para
a produo de cera e artefatos de palha, s pequenas lavouras
comerciais de milho, feijo e mandioca, os sertanejos no se
tornaram senhores das terras cultivadas. Correndo o risco de
serem expulsos sem receber nenhuma indenizao pelas
benfeitorias, ocupavam parte de latifndios como meeiros,
ou seja, tinham de dividir a produo com os proprietrios ou
se submeter a outras relaes anlogas ao trabalho escravo,
ainda existente no Pas, como o endividamento (ver A luta
contra o trabalho escravo, pg. 436).
As secas se tornaram uma questo pblica no fm do sculo
XIX, aps estiagens histricas marcadas por invases e saques
COMO POSSO AJUDAR?
O Clique Semi-rido uma iniciativa da Critas
Brasileira, atravs da qual cada vez que voc entra
no site da campanha, os patrocinadores do uma
contribuio para aumentar o nmero de cisternas
caseiras de placa e de pequenas outras obras hdricas
nas comunidades (www.cliquesemiarido.org.br).
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
G
E
Y
S
O
N
M
A
G
N
O
118
CAATINGA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Suite do couro n
o.
6
No princpio, era o couro.
Navegavam nos couros o serto de couro,
E o serto era o couro, e o couro era o serto.
E, s vezes, serras, ibiapabas, borboremas, serra azul,
Onde o boi ensebado escorregava mo couruda
Do vaqueiro encourado, ao lao, ao relho peludo.
No princpio, era o couro - as caronas fofas,
A guaiaca de anis e pataces,
Peia, maneia, chincha e sobrechinca,
Dicionrios curraleiros de laos e ligas,
Regeiras e ligrios e fis, entre bruacas de mercado,
Surres de sola vermelha para a farinha branca,
Mangus de aoite, patus de rezas, atabaques de festa.
Na garupa
Das selas de vaqueta e alforges bordados,
Era a paoca pisada no pilo de pau-d'arco;
E as raes de gua fresca viajavam
Na borracha de sola ao balano da canga
Dos bois de carro.
Gerardo de Mello Mouro
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
G
E
Y
S
O
N
M
A
G
N
O
119
CAATINGA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
GEYSON MAGNO
(Fotgrafo Caruaru,
Pernambuco, Brasil, 1971)
Nasci e me criei em
Caruaru, cidade conhecida
principalmente pela famosa
feira, o Mestre Vitalino, sua
arte fgurativa no barro e as
festas do perodo junino.
Quando criana vivi
intensamente o movimento
que a feira produzia na
cidade, suas manifestaes
e novidades a cada sbado
foram uma magia e um
convvio que me encantaram
e foram relevantes na criao
do universo simblico e visual
do meu trabalho.
A partir de 1990, escolhi
a fotografa como meio de
expresso e desde ento
busquei desenvolver a minha
linguagem fotogrfca e com
ela externar o meu modo
de compreender a vida,
retratando o universo social
do Nordeste brasileiro, sua
luz e seu povo riqussimos.
Com respeito e admirao,
combatendo os esteretipos,
a misria, a fome, a seca.
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
G
E
Y
S
O
N
M
A
G
N
O
120
CAATINGA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
G
E
Y
S
O
N
M
A
G
N
O
121
CAATINGA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Fotos realizadas entre 2003 e 2006 para a exposio Encourados mostrada ao pblico em 2006 na Torre Malakof e no
Espao Cultura dos Correios em Fortaleza e, em 2007, no Centro Cultural Correios em Salvador e para o livro de mesmo
nome, lanado em janeiro de 2007, no Recife. Encourados mostra o serto a partir do olhar e da percepo que o
vaqueiro, fgura fundamental para o povoamento do serto nordestino, tem de si, do seu habitat e do seu povo.
C
A
A
T
I
N
G
A
AMBIENTES
122 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
de diversas propriedades rurais por sertanejos com fome. Os
recursos governamentais foram destinados principalmente
construo de audes, barragens, estradas, pontes e ferrovias,
obras executadas pela Inspetoria de Obras Contra as Secas,
primeiro rgo governamental criado para tratar do assunto, em
1909, predecessor do Departamento Nacional de Obras Contra
a Seca (DNOCS), institudo em 1945 e atualmente vinculado ao
Ministrio da Integrao Nacional.
De acordo com dados da ONG Caatinga, menos de
20% das verbas do DNOCS atendem populao rural
mais necessitada; os principais benefciados tm sido os
latifundirios, polticos locais e empreiteiros. Localizados nas
grandes fazendas, os empreendimentos que deveriam servir
para matar a sede de todos fomentaram a indstria da seca,
que manteve o sertanejo sob o cabresto das elites.
Ligas camponesas, Sudene e migrao
Em meados da dcada de 1940, surgiu um novo
movimento para modifcar essa estrutura arcaica. So as
chamadas Ligas Camponesas. Organizadas em diversos
estados do Nordeste com o apoio do Partido Comunista
Brasileiro (PCB), as predecessoras do MST comearam
a gerar uma conscincia nacional em favor da reforma
agrria entre os trabalhadores rurais. Com o golpe militar
de 1964, foram interrompidas, assim como o documentrio
de Eduardo Coutinho sobre o assunto, Cabra Marcado para
Morrer, fnalizado em 1984 com Elisabeth Teixeira, viva
do lder campons Joo Pedro, assassinado em 1962, que
tinha inspirado a obra. Hoje, existem cerca de 86 mil famlias
assentadas na regio, concentradas na Bahia e no Cear (ver
Reforma Agrria, pg. 329).
A dcada de 1940 tambm foi marcada pelo xodo
rural macio do serto nordestino como mo-de-obra
barata na construo dos hoje grandes centros urbanos do
Pas, o que se repetiu na ditadura militar com a expanso
das fronteiras agrcolas no Centro-Oeste e na Amaznia,
que j tinha recebido milhares de sertanejos em perodos
anteriores para a explorao da borracha.
nesse contexto que o atraso do Nordeste seco em
relao ao Sudeste e Sul do Pas volta a receber a ateno
CONVIVENDO COM O SEMI-RIDO
O governo Lula lanou publicamente a recriao da Sudene em seu primeiro mandato, mas a lei que recria
a Superintendncia de Desenvolvimento do Nordeste s foi sancionada em janeiro de 2007. Apesar disso, o prin-
cipal programa social do presidente, Fome Zero, tem como uma das reas prioritrias municpios do semi-rido
nordestino. Alis, o Fome Zero, por meio do Ministrio do Desenvolvimento Social, e o Programa de Combate
Desertifcao, do Ministrio do Meio Ambiente, j investiram quase R$ 245 milhes no Programa de Formao
e Mobilizao Social para a Convivncia com o Semi-rido: Um Milho de Cisternas Rurais, principal bandeira da
Articulao do Semi-rido (ASA), que rene mais de 800 instituies. O programa tem como objetivo articular
diversos setores da sociedade para garantir gua para o consumo e para a agricultura de subsistncia, por meio
de uma tecnologia simples e barata, a construo de cisternas de placas de cimento. At o momento, mais de 190
mil de cisternas foram construdas, das quais 155 mil com recursos governamentais, e a pretenso que a meta
(1 milho de cisternas) seja atingida em cinco anos.
A ASA vem trabalhando e difundindo a noo de convivncia com o semi-rido ao invs do tradicional
combate seca. Para isto, alia a construo de cisternas a outras tecnologias sociais e sistemas de produo
sustentveis. Em abril de 2007, lanou um novo programa, Uma Terra e Duas guas (P1+2), em parceria com a
Petrobras e a Fundao Banco do Brasil (FBB) e com o apoio da Rede de Tecnologia Social (RTS). O foco discutir
a produo de alimentos no semi-rido a partir do acesso e manejo sustentveis da terra e da gua e, com isso,
promover segurana alimentar e gerao de renda aos pequenos agricultores familiares por meio, entre outros,
da sistematizao, intercmbio e implementao de tecnologias de captao da gua da chuva.
C
A
A
T
I
N
G
A
123
AMBIENTES
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
CULINRIA
Baio de Dois
xcara (ch) de manteiga de garrafa
kg de feijo de corda
1 kg de arroz
250 g de queijo coalho
1 cebola grande picada
2 dentes de alho picados
100 gramas de toucinho fresco
uma pitada de cominho
coentro fresco a gosto
sal a gosto
Modo de preparo:
M
Leve ao fogo o feijo em panela de ferro
com litro de gua. Quando o feijo comear a
amolecer, corte o toucinho em cubos, frite o alho
e a cebola na manteiga de garrafa, coentro, sal e
cominho e junte ao feijo. Deixe ferver e coloque
o arroz. Quando a gua comear a secar, misture
o queijo picado, baixe o fogo e deixe cozinhar.
Sirva com carne-de-sol frita.
do governo. Em 1956, o presidente Juscelino Kubitschek
constitui o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do
Nordeste (GTDN), coordenado pelo economista Celso Furta-
do, que elabora uma poltica de desenvolvimento econmico
para o Nordeste, na qual recomenda a industrializao
da regio e a incorporao dos agricultores familiares
economia de mercado.
O trabalho resultou na criao da Superintendncia
do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) em 1959, que
pretendia encarar questes como concentrao fundiria
e analfabetismo, priorizou a produo de alimentos por
meio da irrigao no Rio So Francisco. Desde a ditadura
militar, a Sudene enfrentou um processo de esvaziamento
poltico e oramentrio. Em 2001, foi extinta pelo governo de
Fernando Henrique Cardoso, sem que fosse substituda por
um novo rgo ou poltica consistente de desenvolvimento
regional para o semi-rido, cujas principais reivindicaes
dos movimentos sociais locais continuam sendo as mesmas:
a universalizao do abastecimento de gua para beber e
cozinhar, o fortalecimento da agricultura familiar, a articula-
o entre produo, extenso, pesquisa e desenvolvimento
cientfco e tecnolgico, o acesso a crdito, a erradicao do
analfabetismo e a valorizao dos conhecimentos tradicio-
nais, entre outros.
Prioridades da Caatinga
Entre as principais causas de degradao da Caatinga
esto: o desmatamento, especialmente para a produo
de lenha, utilizada como fonte de energia em residncias,
olarias e siderrgicas; a pecuria extensiva, com o consumo
e destruio da vegetao pelos animais; e a agricultura
de irrigao, que avana ao longo do Rio So Francisco em
municpios como Juazeiro e Petrolina, regio que se tornou
a maior exportadora de frutas do Pas, especialmente de
uvas, modelo de cultivo que compromete os lenis freticos
e saliniza e contamina o solo por agrotxicos. As reas sob
maior presso so as margens do Rio So Francisco, explora-
das intensamente, o que vem provocando o assoreamento
de algumas reas; os locais de explorao de minrios, como
o plo gesseiro da Chapada do Arararipe (CE); os aqferos
subterrneos, utilizados para suprir o consumo humano ou
irrigao; e as zonas sujeitas desertifcao.
A desertifcao, processo de degradao ambiental que
ocorre nas regies com clima rido, semi-rido e submido
seco provocado pelo uso inapropriado do solo, da gua e
da vegetao para irrigao, cultivo intensivo, entre outros
usos, j atinge 181 mil km
2
do semi-rido brasileiro, ou 1.482
municipios. A regio do Serid (RN), Gilbus (PI), Irauuba (CE)
e Cabrob (PE), que somam 15 mil km2, esto em situao de
extrema gravidade.
Signatrio da Conveno para o Combate Deserti-
fcao (CCD), o Brasil tinha como obrigao elaborar o
Programa de Ao Nacional de Combate Desertifcao e
Mitigao dos Efeitos da Seca (PAN), lanado em agosto de
2004 pela Secretaria de Recursos Hdricos do Ministrio do
Meio Ambiente, para o qual devero ser destinados R$ 23,5
bilhes at 2007, principalmente para o combate pobreza
e desigualdade social e o fortalecimento da agricultura fa-
miliar (ver Solo, pg. 333). Em novembro de 2006, Ano In-
ternacional dos Desertos e da Desertifcao, foi inaugurado
C
A
A
T
I
N
G
A
AMBIENTES
124 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
A TRANSPOSIO DO RIO SO FRANCISCO
MARCELO CAUS ASFORA*
*Pesquisador assistente da Fundao Joaquim Nabuco e professor do
Mestrado Profssional em Tecnologia Ambiental do Instituto Tecnolgico
de Pernambuco marcelo.asfora@fundaj.gov.br)
O Projeto de Integrao da Bacia do So Francisco
s Bacias do Nordeste Setentrional (PISF) considerado
uma ao estratgica pelo governo federal. A sua con-
cretizao, contudo, encontra forte resistncia por parte
de organismos do prprio estado, onde se destacam o
Comit da Bacia Hidrogrfca do So Francisco (CBHSF) e
o Ministrio Pblico, organizaes no-governamentais,
associaes tcnicas, ambientalistas e setores da igreja.
O Ibama, contrariando orientao da Procuradoria
da Repblica do Distrito Federal, concedeu a licena
de instalao da obra em maro de 2007. Em junho, o
Exrcito deu incio aos trabalhos para construo dos
canais de aproximao que conduziro as guas do Rio
at as estaes de bombeamento, as quais alimentaro
os eixos da transposio.
Os principais embates em torno do projeto envolvem
questionamentos quanto aos objetivos, necessidade e
prioridade da obra, impactos socioambientais e legali-
dade do processo de licenciamento e outorga.
A transposio das guas do So Francisco, essncia
do projeto, no um fato novo. H quase uma dcada,
a cidade de Aracaju, em Sergipe, e vrios municpios da
Bahia, todos situados fora da bacia do Rio So Francisco,
so abastecidos por ela, ou seja, recebem guas trazidas
por transposies. O Plano de Recursos Hdricos da
Bacia Hidrogrfca do So Francisco (PRHSF) tambm
prev usos externos bacia para consumo humano e
dessedentao animal, desde que haja a comprovada
escassez e estejam esgotadas as disponibilidades locais.
Existe ainda uma transposio indiretadas guas do Rio
So Francisco para todo o Nordeste na forma de energia
eltrica. Cerca de 80% da vazo est comprometida com
a gerao da energia, que atende a 95% das demandas
do Nordeste, tornando-se indisponvel para demais usos
consuntivos na bacia.
A parcela da gua que est em disputa corresponde
aos 20% que restam do valor reservado para gerao
de energia. Em 2004, poca em que se realizaram os
estudos do Plano, essa vazo restante encontrava-se
praticamente toda outorgada (ou seja, com o seu direito
de uso legalmente concedido) pelos estados da bacia e
pela Unio. Portanto, a outorga para o projeto de trans-
posio, do ponto de vista legal, se superpe a outras j
concedidas. Em termos de volume mdio anual, a outorga
para a transposio a segunda maior demanda na bacia.
Atualmente, a ANA coordena a execuo do Cadastro de
Usurios de gua da bacia, que possibilitar uma melhor
avaliao do uso efetivo de suas guas.
Quanto questo ambiental, as aes mitigadoras
e de proteo esbarram em diagnsticos pouco apro-
fundados e na falta de conhecimento sobre as espcies e
biomas afetados. O PISF tem como obras-chave dois eixos
de transposio, Eixo Leste e Eixo Norte. O primeiro retira
gua do Rio a partir do lago da barragem de Itaparica
e transporta para o aude Poo da Cruz, no serto de
Pernambuco, e o reservatrio Epitcio Pessoa, na Paraba.
O segundo eixo retira gua da calha do Rio, prximo
cidade de Cabrob (PE), e a transporta para os audes
Chapu e Entremontes, em Pernambuco, Castanho, no
C
A
A
T
I
N
G
A
125
AMBIENTES
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
O Projeto de Integrao da Bacia do So Francisco
s Bacias Hidrogrfcas do Nordeste Setentrional (PISF)
considerado uma ao estratgica pelo governo
federal. A sua concretizao, contudo, encontra forte
resistncia por parte de organismos do prprio estado,
onde se destacam o Comit da Bacia Hidrogrfca do
So Francisco (CBHSF) e o Ministrio Pblico, orga-
nizaes no-governamentais, associaes tcnicas,
ambientalistas e setores da igreja. O Ibama, Contra-
riando orientao da Procuradoria da Repblica do
Distrito Federal, concedeu a licena de instalao da
obra em maro de 2007. Em junho, o Exrcito deu
incio aos trabalhos para construo dos canais de
aproximao que conduziro as guas do Rio at as
estaes de bombeamento, as quais alimentaro os
eixos da transposio.
Os principais embates em torno do projeto esto
relacionados sua concepo e processo de imple-
mentao. Envolvem questionamentos quanto aos
objetivos, necessidade e prioridade da obra, impactos
ambientais e socioeconmicos e legalidade do processo
de licenciamento e outorga.
A transposio das guas do So Francisco,
essncia do projeto, no um fato novo e certamente
no se constitui na questo mais polmica. H quase
uma dcada, a cidade de Aracaju, em Sergipe, e vrios
municpios da Bahia, todos situados fora da bacia do
Rio So Francisco, so abastecidos por ela, ou seja,
recebem guas trazidas por transposies. O Plano
de Recursos Hdricos da Bacia Hidrogrfica do So
Francisco (PRHSF), aprovado pelo Comit da Bacia,
tambm prev usos externos bacia para consumo
humano e dessedentao animal, desde que haja a
comprovada escassez e estejam esgotadas as dispo-
nibilidades locais. Existe ainda uma transposio
indireta de uma grande parcela das guas do Rio
So Francisco para todos os estados do Nordeste na
forma de energia eltrica. Aproximadamente 80% da
vazo garantida est comprometida com a gerao da
energia, que atende a 95% das demandas de todo o
Nordeste, tornando-se indisponvel para a irrigao e
VOC SABIA?
M
O primeiro estudo de transposio do
Rio Francisco foi feito a pedido de D.Pedro
II, imperador do Brasil, entre 1852-1854,
durante uma seca no Nordeste.
M
O Rio So Francisco atravessa os esta-
dos de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco,
Alagoas e Sergipe.
Cear, Pau dos Ferros, Santa Cruz e Armando Ribeiro
Gonalves, no Rio Grande do Norte.
As obras dos eixos de transposio so grandiosas,
envolvendo a construo de oito estaes de bombea-
mento de gua, 700 km de canais de concreto armado,
12 tneis, 27 aquedutos e 23 reservatrios de passagem.
Os desnveis a serem vencidos nos eixos norte e leste
correspondem a 157 e 320 metros, respectivamente,
equivalentes s alturas de prdios com 52 e 107 andares.
O empreendimento foi orado em 4,5 bilhes de reais,
sendo 70% relativos construo do Eixo Norte e 30%
relativos ao Eixo Leste.
Embora essencial ao projeto, a construo dos
eixos produz poucos benefcios prticos, pois apenas
transferem a gua do Rio So Francisco para os grandes
reservatrios da regio receptora. Para alcanar os be-
nefcios pretendidos, faz-se necessria a implantao de
um grande conjunto de obras de distribuio das vazes
transpostas para as quais no existem recursos fnancei-
ros assegurados nem cronograma estabelecido.
Para os seus defensores, trata-se de um projeto de
infra-estrutura hdrica essencial para atendimento das
necessidades de abastecimento de municpios do Semi-
rido, do Agreste Pernambucano e da Regio Metropo-
litana de Fortaleza, benefciando uma populao de 12
milhes de habitantes. Embora tenha o mrito de prover
gua para regies com reconhecido dfcit hdrico, uma
anlise do rateio da gua e dos custos entre os segmentos
benefciados pelo projeto impe questionamentos sobre
os objetivos da obra. Do volume total captado, 70% das
guas destinam-se a atividades agrcolas, 26% para uso
urbano-industrial e apenas 4% para consumo humano da
populao da Caatinga, grande afetada pelas secas.
Para viabilizar as atividades agrcolas, os custos de
operao e manuteno da infra-estrutura de transpo-
sio sero repassados, quase que totalmente, para os
usurios urbanos. Como o custo alto, torna-se proibitivo
o seu rateio pelos usurios diretamente benefciados pelo
projeto. Assim, os custos sero repassados para as com-
panhias de abastecimento, atingindo toda a populao
conectada rede de abastecimento do estado.
Em mdia, as concessionrias estaduais tero uma
perda de 10% na sua receita bruta. O impacto para o
usurio poder ser bastante superior.
Nos pases em desenvolvimento, como o Brasil, onde
so escassos os recursos e grandes as necessidades estru-
turais, a efcincia econmica na utilizao dos recursos
pblicos possui dimenso tica. A seleo de um projeto
no deve limitar-se garantia de benefcios lquidos
positivos. essencial compar-lo com outros projetos
alternativos e seus respectivos custos e benefcios.
No fnal de 2006, a ANA lanou o Atlas Nordeste
Abastecimento Urbano de gua, no qual prope alter-
nativas para atender s demandas por gua da populao
dos nove estados do Nordeste e norte de Minas Gerais,
abrangendo 1.356 municpios e um contingente superior
a 34 milhes de habitantes. Seus estudos contemplam
recursos hdricos superfciais e subterrneos, avaliao de
sistemas de produo de gua, interfaces com os plos de
desenvolvimento e a defnio de alternativas tcnicas
para atendimento das demandas at o horizonte de 2025.
As alternativas resultam em uma previso de investimen-
tos total da ordem de R$ 3,6 bilhes, correspondentes a
um portflio de 530 projetos para a regio.
Os projetos do Atlas benefciariam o triplo da popu-
lao do PISF, com menos da metade dos investimentos
e custos de operao, manuteno e gesto bastante
inferiores. Assim, resta avaliar de forma mais objetiva
os mritos do PISF enquanto projeto estruturador do
agronegcio no Nordeste Sententrional. Essa anlise
deve contemplar o custo de oportunidade do uso da
gua na prpria bacia, que expressa os benefcios que
a sociedade renuncia ao escolher a alternativa do uso
externo, bem como um rateio de custos proporcional
aos benefcios auferidos tanto pelos setores usurios
como pelos estados.
SAIBA MAIS Comit da Bacia Hidrogrfca do Rio
So Francisco (www.cbhsaofrancisco.org.br); Minis-
trio da Integrao Nacional (www.integracao.gov.br/
saofrancisco/index.asp); Atlas Nordeste da ANA (http://
parnaiba.ana.gov.br/atlas_nordeste/).
C
A
A
T
I
N
G
A
AMBIENTES
126 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
o Ncleo de Pesquisa de Recuperao de reas Degradadas
e Combate Desertifcao (Nuperade), em Gilbus (PI) ,
que junto com outros 14 municpios forma a maior rea de
desertifcao no Brasil. No ncleo, que tem como objetivo
apoiar estudos sobre o fenmeno da desertifcao, testar
tecnologias para o controle do processo de degradao de
terras, promover a recuperao de reas j degradadas da
regio e servir como plo de treinamento para a populao
local, foram construdas pequenas barragens de terra para
conteno do escoamento superfcial e implantados expe-
rimentos de pesquisa agrossilvopastoril.
PERSONAGEM
Eu sou de uma terra que o povo padece
Mas no esmorece e procura vencer.
Da terra querida, que a linda cabocla
De riso na boca zomba no sofr
No nego meu sangue, no nego meu nome.
Olho para a fome, pergunto: que h?
Eu sou brasileiro, flho do Nordeste,
Sou cabra da Peste, sou do Cear
(Patativa do Assar)
O PAN, uma referncia internacional, teve 50% de sua
verba contigenciada em 2006 e at abril de 2007 apenas
0,3% (R$ 31,8 mil) de um oramento de R$ 11,3 milhes
tinha sido gasto. Recentemente, o coordenador tcnico
do programa afrmou que seria necessrio investir R$ 1
bilho/ano, para recuperar a regio afetada e suscetvel
desertifcao.
Com 20 milhes de dlares do Fundo Global para o
Meio Ambiente (GEF, sigla em ingls), est previsto o de-
senvolvimento nos prximos dez anos
do Projeto de Manejo Integrado
PATATIVA DO ASSAR (1909-2002)
Para ser poeta no preciso ser professor: basta,
no ms de maio, recolher um poema em cada for bro-
tada nas rvores do seu serto. Essa receita prosaica de
como se fazer poesia de Antnio Gonalves da Silva, o
Patativa do Assar, grande poeta brasileiro nascido em
1909, no sul do Cear, em uma pequena propriedade
rural no municpio de Assar.
Como todo bom sertanejo, comeou a trabalhar
duro na enxada ainda menino, mesmo tendo perdido
um olho aos quatro anos. Cresceu entre histrias,
sons de viola e folhetos de cordel; dizia que no serto
enfrentava a fome, a dor e a misria, e que para ser
poeta de vera preciso ter sofrimento. O universo
de suas poesias e de suas cantigas de improviso tem
com o ponto de partida o caboclo e sua difcil relao
com o serto nordestino, mas nem por isso deixava
de cantar e escrever as belezas da Caatinga, sua terra
querida. Dizia que no tinha tendncia poltica,
apenas era revoltado com as injustias sociais no
sistema poltico, que considerava fora do programa
da verdadeira democracia.
Seus livros foram publicados ocasionalmente
por pesquisadores e msicos amigos e tambm em
parceria com pequenas editoras. Entre os ttulos, esto
Inspirao Nordestina, de 1956; Cantos de Patativa, de
1966; e Cante L que Eu Canto C, de 1978, que inclui
uma pequena autobiografa
do autor. Patativa tambm
teve inmeros folhetos
de cordel e poemas pu-
blicados em revistas e jornais. O grupo
pernambucano da nova gerao Cordel do
Fogo Encantado bebe na fonte do poeta para compor
suas letras e Luiz Gonzaga gravou muitas msicas suas,
entre elas a que lanou Patativa comercialmente: A
triste partida.
Desde os 91 anos de idade, com a sade abalada,
Patativa dizia que no escrevia mais porque, ao longo
de sua vida, j havia dito tudo que tinha para dizer. Fale-
ceu em 2002 na cidade que lhe emprestava o nome.
I
L
U
S
T
R
A
O
C
A
R
L
O
S
M
A
T
U
C
K
C
A
A
T
I
N
G
A
127
AMBIENTES
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
de Guimares Rosa e de Ariano Suassuna, que em 2007 tem
uma obra-prima, A Pedra do Reino, adaptada para a televiso
em forma de microssrie. Seja por meio da mundialmente
aclamada xilogravura de J.Borges, na qual so inseridos os
elementos do imaginrio sertanejo: lampio, vaqueiros,
festa de So Joo, entre outros. Seja por meio do cinema,
desde O Cangaceiro, de Lima Barreto, de 1953, passando
pela esttica da fome de Glauber Rocha em Deus e o Diabo
na Terra do Sol e Vidas Secas de Nelson Pereira dos Santos, s
produes mais recentes, Abril Despedaado, de Walter Salles,
Baile Perfumado, de Lrio Ferreira e Paulo Caldas, e Baixio das
Bestas, de Cludio Assis, produo que disseca o lado negro
da indstria da cana no serto de Pernambuco em tempos
de louvao ao etanol made in brazil.
Muito presente no imaginrio coletivo e no cotidiano
brasileiro, a diversidade das manifestaes culturais do
(e sobre) o serto, uma das maiores do Pas, exprime
como em nenhum outro bioma o quanto o homem est
intrincado com o ambiente em que vive. Mas, infelizmen-
te, onde quer que estejam, na Caatinga, nas periferias
dos grandes centros, nas novas fronteiras agrcolas, por
conta de uma formao em que faltaram oportunidades
e sobrou fome, os sertanejos continuam a ser a parcela da
populao mais pobre do Brasil e, de acordo com o estudo
Mudanas Climticas e seus Efeitos na Biodiversidade,
divulgado em maro de 2007, sero os mais vulnerveis
no Pas aos efeitos do aquecimento global (ver Mudana
Climtica, pg. 110).
de Ecossistemas e de Bacias Hidrogr-
fcas na Caatinga. Devero ser priori-
zadas aes de recuperao de matas
ciliares concentradas nas margens
do Velho Chico , ampliao da rea
manejada sustentavelmente, refores-
tamento do entorno de propriedades
e pequenos empreendimentos e na
criao de trs corredores ecolgicos
nas regies de Peruau e Jaba (MG),
no serto de Alagoas e Sergipe e nas
Serras da Capivara e das Confuses
(PI). O uso mais racional dos recursos
naturais tambm ser incentivado
com novas linhas de fnanciamento
e assistncia tcnica.
O GEF dever destinar recursos ainda para a adoo
de sistemas de produo agropecuria sustentveis, por
meio da melhor utilizao das plantas forrageiras, em
assentamentos da reforma agrria e comunidades de
agricultores familiares em 60 municpios do semi-rido,
a serem implementados pelo Ministrio do Desenvolvi-
mento Agrrio, que tambm est recebendo 50 milhes de
dlares do Fundo Internacional para o Desenvolvimento da
Agricultura (Fida) para o desenvolvimento de um programa
de produo de medicamentos ftoteraputicos e outro de
microcrdito rural no Bioma.
Tambm para promover atividades produtivas susten-
tveis, assim como a recuperao de reas degradadas, Cear
e Bahia so parceiros no Projeto Mata Branca, que tem 22,2
milhes de dlares do Banco Mundial (Bird) para aes que
sero desenvolvidas nos prximos cinco anos.
Todo o Brasil convive com a Caatinga. Seja por meio do
forr, que foi popularizado por Luiz Gonzaga. Seja por meio
dos cordis e dos repentes, eternizados por milhares de
poetas populares, incluindo Patativa do Assar, e revisitados
pelo Cordel do Fogo Encantado. Seja por meio da literatura de
Graciliano Ramos, de Rachel de Queiroz, de Jos Lins do Rego,
VEJA TAMBM Desenvolvimento humano (pg.
435); Educao (pg. 444).
M
A
R
C
E
L
L
O
C
A
S
A
L
J
R
.
/
A
B
R
Bispo Cappio e outras lideranas contra a transposio do S. Francisco, 2007.
C
E
R
R
A
D
O
128 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
CERRADO
PEDRO NOVAES*
Caracterizado por sua preciosa biodiversidade e pela diversidade social, o Cerrado ainda visto
como mera fronteira para expanso do agronegcio brasileiro
*Gegrafo e documentarista. Mestre em Cincia Ambiental pela Universidade de So
Paulo. Foi secretrio-executivo de Meio Ambiente e Recursos Hdricos do Estado de Gois
e fellow do Programa LEAD pedro.novaes@uol.com.br
O Cerrado ocupa aproximadamente 1,9 milho de
Km
2
, pouco menos de um quarto do territrio brasileiro.
o segundo maior bioma do Pas, abrangendo 12 estados:
Maranho, Piau, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Gois,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, So Paulo, Paran, Par e
Rondnia, alm do Distrito Federal e de aparecer em man-
chas em Roraima e no Amap. Detm cerca de um tero da
biodiversidade brasileira, 5% da fauna e fora mundiais
e o nascedouro de guas que formam as trs grandes
bacias hidrogrfcas do Pas (Amaznica, So Francisco e
Paran/Paraguai). Alm disso, sob o solo de vrios estados
do Cerrado est o Aqfero Guarani (ver Disponibilidade
e Distribuio, pg. 292).
A partir da dcada de 1960, o Cerrado foi palco de uma
forte expanso da fronteira agropecuria, estimulada por
polticas pblicas e de crdito nacionais e internacionais
voltadas para a exportao de gros e de carnes.
A transferncia da capital federal para Braslia, em 1960,
e a adoo de polticas de desenvolvimento, o surgimento
de novas tecnologias e investimentos em infra-estrutura,
principalmente durante a dcada de 1970, foram os prin-
cipais fatores na gerao dessa nova dinmica econmica,
que resultou na abertura e ocupao de grandes reas de
Cerrado atravs da expanso da agricultura comercial.
O resultado foram espantosas mudanas nos nmeros
relativos produo. De cerca de 6% da soja do Pas no incio
da dcada de 1970, a regio Centro-Oeste produz hoje 50%
R
U
I
F
A
Q
U
I
N
I
Parque Nacional Grande Serto Veredas, Minas Gerais.
C
E
R
R
A
D
O
129 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
A DINMICA DO DESMATAMENTO E OCUPAO
A dinmica do desmatamento no Cerrado comea no momento em que o fazendeiro se associa a um carvoeiro,
que agencia mo-de-obra e instala o acampamento e fornos necessrios produo do carvo com o Cerrado
desmatado. O carvoejamento diminui signifcativamente os custos do desmatamento para o fazendeiro que, de
outro modo, simplesmente queimaria a matria vegetal do desmate.
Uma vez concluda a retirada da vegetao, as pastagens sero semeadas. Gado e capim, via de regra, sero
manejados sem orientao tcnica e com base apenas em conhecimentos empricos. O resultado rotineiramente
a paulatina degradao da qualidade do pasto pelo sobreuso e falta de cuidados bsicos. O passo seguinte poder
ser o abandono da rea e a abertura de outras mais alm, onde o custo da terra apresenta-se atrativo.
Dois fatores so fundamentais para que o desmatamento continue sendo uma alternativa economicamente
vivel: a falta de capacidade dos rgos de meio ambiente para a fscalizao e a existncia de mercado consumidor
para o carvo vegetal.
Os grandes consumidores do carvo vegetal produzido no Cerrado so as siderurgias localizadas em Minas
Gerais. Ainda que a legislao forestal de alguns dos principais estados do Cerrado, como Minas Gerais e Gois,
obrigue-as ao auto-suprimento atravs de forestas plantadas, a realidade que nosso ferro e ao seguem recebendo
esse subsdio esprio s custas da vegetao do Cerrado.
Pior ainda, a produo de carvo continua sendo tambm um grave problema de direitos humanos, pela
utilizao no rara de mo-de-obra escrava e infantil. Segundo dados da Funatura, so hoje mais de 40 side-
rrgicas em Minas responsveis por 75% do consumo de carvo vegetal no Pas, destinado a produzir 5 milhes
de toneladas de ferro-gusa/ano.
LIMITES DO CERRADO (o que representa 13% de toda a soja do Planeta), respon-
dendo por 42% da rea plantada com este gro no Brasil.
O Cerrado produz hoje tambm cerca de 20% do milho,
15% do arroz e 11% do feijo. A pecuria no Centro-Oeste
detm mais de um tero do rebanho bovino nacional e cerca
de 20% dos sunos.
As avaliaes mais recentes sobre o estado da co-
bertura vegetal do bioma apontam para um perda entre
38,8% segundo a Embrapa Cerrado e 57% segundo
a Conservao Internacional , da vegetao nativa.
Muito da diferena entre estes dados se relaciona
dificuldade de mapeamento dos diferentes ecossistemas
do bioma, sobretudo na diferenciao entre pastagens
naturais e pastagens plantadas. A Conservao Interna-
cional estimou ainda a taxa mdia de desmatamento no
bioma at 2004 em 2,6 hectares por minuto, ou cerca de
3,7 mil hectares dirios.
Alm do efeito devastador sobre a cobertura vegetal, a
nfase na agricultura em larga escala resultou na progressiva
inviabilizao da pequena agricultura familiar. As conse-
qncias so a concentrao fundiria e o xodo rural, este
ltimo, a caracterstica mais marcante dessa nova dinmica
econmica, onde se passa de uma populao predominan-
C
E
R
R
A
D
O
130 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
MSICA DO CERRADO
GUSTAVO PACHECO
no Cerrado que est a alma da msica
caipira do Brasil, ligada vida rural do centro-sul
do Pas. O instrumento que melhor simboliza as
tradies musicais dessa regio a viola caipira,
que apresenta cinco pares de cordas de metal
e muitas variaes na tcnica de execuo, nas
afnaes utilizadas e nos materiais empregados
em sua confeco, da resultando um amplo leque
de possibilidades sonoras. O principal gnero
musical a ela associado a moda-de-viola, cano
rural a duas vozes que est na base do que hoje
conhecemos como msica sertaneja.
Ao lado da rabeca e da caixa de folia, a viola
caipira est presente tambm nas folias, grupos
itinerantes que percorrem longas distncias can-
tando e tocando como forma de devoo religiosa,
principalmente aos Santos Reis e ao Divino Esprito
Santo. Em torno das folias se agregam vrias
manifes taes musicais, dentre as quais danas e
brincadeiras como o lundu, a catira e a curraleira.
Assim como em outras regies brasileiras, os
msicos do Cerrado hoje tm que se adaptar s
mudanas advindas no s da degradao como
tambm da preservao ambiental, que considera
predatrios costumes tradicionais como a caa de
veado, animal cujo couro usado na confeco
das caixas de folia (ver A identidade brasileira
atravs da msica, pg. 68).
temente rural ao predomnio da vida nas cidades no espao
de apenas duas dcadas.
A expanso da fronteira agropecuria se faz acompa-
nhar de uma progressiva diminuio na capacidade das
atividades econmicas rurais em absorver mo-de-obra,
sem que as atividades urbanas, ao mesmo tempo, sejam
capazes de receber o contingente de migrantes resultante.
As reas de agricultura comercial consolidada no Cerrado so
aquelas onde h hoje menor disponibilidade de empregos
por rea utilizada. Em 1985, as reas mais tecnifcadas
geravam praticamente quatro vezes menos emprego que as
reas ainda no incorporadas economia de mercado.
Modelo insustentvel
Alguns dados demonstram a insustentabilidade
desse modelo econmico: apenas em Gois, onde pela
antiguidade do processo de ocupao resta muito pouco
Cerrado intacto, foram desmatados, entre 2000 e 2002, com
autorizao do rgo estadual de meio ambiente, cerca de
198 mil hectares. No Piau, apenas um grande projeto de
plantio e benefciamento de soja deve desmatar cerca de
11 mil hectares de Cerrado por ano. Isso ao mesmo tempo
em que a degradao de pastagens, segundo a Embrapa
Cerrado, atinge, em algum nvel, pelo menos 70% das terras
ocupadas no bioma.
Apesar dos nmeros assustadores, o Cerrado dos mais
desamparados em termos legais para sua proteo. Diferen-
temente da Amaznia, da Mata Atlntica, da Zona Costeira
e do Pantanal, o Cerrado (e a Caatinga) no fgura como
Patrimnio Nacional na Constituio Federal. Alm disso,
at 2003, apenas 1,7% de sua rea (3.342.444,80 hectares)
encontravam-se protegidos em unidades de conservao de
proteo integral. Adicionando-se a rea em unidades de
conservao de uso sustentvel (1.401.325,79 hectares ou
0,71% do bioma), chegamos a 2,41%.
Essa situao fruto, em grande medida, do contraste en-
tre o valor natural do bioma e a viso que a sociedade brasileira
dele possui. O Cerrado ainda visto como um tipo de vegetao
pobre e como uma fronteira, uma reserva de terras de que o
Brasil dispe para a expanso da ati vidade agropecuria.
A lgica que continua presidindo a expanso econmica
nas reas de Cerrado, nas palavras da Agenda 21 brasileira,
assemelha-se mais minerao que agropecuria. Os au-
mentos na produo baseiam-se no apenas em ganhos de
produtividade, pois continuam dependendo umbilicalmente
da ocupao de novas reas.
A pecuria segue sendo a grande responsvel por
novos desmatamentos. Em Gois, 87,4% da rea de
desmatamento autorizada pelo rgo estadual de meio
ambiente, em 2001, se destinava pecuria, enquanto
a agricultura responsabilizou-se por apenas 9,5% dos
desmatamentos legais.
C
E
R
R
A
D
O
131 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
QUEM VIVE NO CERRADO
Apenas a regio Centro-Oeste abriga cerca de
53 mil ndios de 42 etnias diferentes. Estimando-se
conservadoramente que em 1500 havia 2 milhes de
ndios no Brasil, e mantendo-se a mesma proporo de
extermnio, da ordem de 81,5% da populao, pode-se
estimar que havia, nos estados do Cerrado, cerca de 760
mil indgenas, e no Centro-Oeste, 287 mil.
Com a invaso europia, alm de dizimados, os
povos indgenas foram empurrados em direo s
regies mais interioranas do territrio e por isso hoje
se concentram majoritariamente na Amaznia. Alguns
dos estados do Cerrado praticamente conseguiram
exterminar suas populaes indgenas. Entre os povos
remanescentes, esto os Av-Canoeiro, de lngua Tupi-
Guarani, cuja histria representativa da triste sina dos
povos indgenas do Cerrado.
Existem dois pequenos grupos Av-Canoeiro,
num total estimado de 40 indivduos: um em Gois,
na regio do Alto Rio Tocantins, hoje nos arredores do
lago da Usina Hidreltrica de Serra da Mesa, e outro no
Tocantins, na Ilha do Bananal e seus arredores.
A existncia dos dois grupos testemunho do histrico
de confitos com fazendeiros, garimpeiros e o governo da
provncia. Foi com o aumento da violncia que parte do
povo empreendeu, ainda no sculo XIX, jornada de sua
terra original, o Alto Tocantins, em direo a oeste, para o
Araguaia, onde permanece at hoje.
Sucessivos massacres, levados a cabo pela popu-
lao local e fazendeiros, deixaram o grupo do Alto Rio
Tocantins reduzido a 12 indivduos hoje contatados e
possivelmente outros 10 sem contato estabelecido
com a Funai. O grupo do Araguaia possui 9 indivduos
contatados e cerca de 15 ainda sem contato. A despeito
da demarcao e homologao de suas terras, ambos os
grupos permanecem muito ameaados por confitos e
pela ocupao irregular de suas reas. A maior ameaa,
entretanto, permanece sendo demogrfca, j que seu
reduzido nmero pode no assegurar sua reproduo
e continuidade como povo.
O caipira
Alm dos povos indgenas, o Cerrado foi ocupado
por um tipo humano mestio, formado a partir da mescla
de ndios com negros fugidos da escravido e tambm
com eurodescendentes. Em termos culturais, este tipo
humano pode ser defnido como o caipira brasileiro.
A cultura caipira se caracteriza pela economia de
subsistncia na roa, atravs da caa e pesca e por uma
dinmica social caracterizada por intensas relaes de
vizinhana, sobretudo a partir do trabalho coletivo e de
prticas religiosa comuns.
A populao caipira e suas ricas tradies culturais so
uma das grandes vtimas do processo de modernizao
ocorrido com intensidade a partir da dcada de 1960.
A sbita transio entre uma economia de subsistncia
embasada no trabalho coletivo e a necessidade de se reger
pelas relaes de mercado, em meio ausncia de polticas
que protegessem este grupo social, levou-os perda de
suas terras, das quais em geral no possuam documenta-
o, proletarizao no campo e, em seguida, migrao
para a periferia dos grandes centros urbanos.
Kalunga
O Cerrado tambm casa de inmeros remanescen-
tes de quilombos. O maior deles abriga o povo Kalunga,
localizado no nordeste do estado de Gois, ocupando 250
mil hectares em trs municpios Cavalcante, Terezina
de Gois e Monte Alegre de Gois , com cerca de 5 mil
habitantes, divididos em 25 aglomerados populacionais.
Os Kalungas so descendentes de escravos fugidos das
minas de ouro na regio e dos currais do So Francisco,
e vivem da agricultura de subsistncia, do comrcio de
poucos excedentes, como a farinha de mandioca, e hoje
cada vez mais do turismo em suas terras. Apesar da rea
Kalunga ser reconhecida desde de 1991 como Stio do
Patrimnio Histrico e Cultural, a situao de suas terras
ainda no est absolutamente resolvida. Persistem pro-
blemas com invaso e grilagem, embora menores que no
passado (ver Quilombolas, pg. 234).
C
E
R
R
A
D
O
132 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
Impactos da agricultura
O manejo pouco cuidadoso do solo tem ocasionado
perdas expressivas desse precioso recurso natural. Conforme
estimativas do WWF, no Cerrado, para cada quilo de gros
produzido, perdem-se de 6 a 10 quilos de solo por eroso
(ver Solo, pg. 333). O Pas como um todo desperdia
assim cerca de 1 bilho de toneladas de solo frtil por ano.
A perda de fertilidade causada por esse processo aumenta
a demanda por agroqumicos, no apenas fertilizantes,
mas praguicidas, j que as plantas mal nutridas tornam-se
mais susceptveis a pragas e doenas. Todo esse processo
erosivo tem um destino: os cursos dgua, onde contribuem
para seu assoreamento e para a perda de qualidade dos
recursos hdricos.
Outro impacto direto da agricultura sobre o Cerrado est
no consumo e no desperdcio de gua altssimos na irrigao.
O resultado tem sido um nmero crescente de confitos pela
gua entre agricultores e entre uso agrcola e uso urbano
da gua em muitos estados. Em Gois, 29 municpios (mais
de 10% do total) estiveram em situao de alerta ou crtica
quanto ao abastecimento no perodo da estiagem, em 2001.
Em 1999, este nmero chegou a 82. Outro estudo mostra
que 60% dos municpios do Estado tm seus mananciais de
abastecimento em situao crtica, seja por esgotamento,
assoreamento, poluio ou confitos entre usurios. Para
se ter idia, um piv central consome em mdia 1 litro
de gua por segundo por hectare irrigado, mas desperdia
mais de metade do que consome. Um piv central para
100 hectares consome gua sufciente para abastecer uma
cidade de 30 mil habitantes. Apenas no estado de Gois, j
so mais de 80 mil hectares irrigados (ver Confitos de
Uso, pg. 298).
Do ponto de vista humano, anlises realizadas pelo Labo-
ratrio de Processamento de Imagens da Universidade Federal
de Gois evidenciam um desenvolvimento desigual dentro do
bioma. Apesar dos dados negativos em relao ao emprego,
algumas das reas onde a agricultura comercial se consolidou
de forma mais intensa, como o sudoeste de Gois, apresen-
taram avanos signifcativos em termos de desenvolvimento
humano, com diminuio dos ndices de pobreza e aumentos
importantes do ndice de Desenvolvimento Humano. De
outro lado, algumas reas de ocupao mais recente, apesar
de aumentos na renda per capita, mostram uma tendncia
VOC SABIA?
M
Em 1975, 13% das propriedades rurais de
Mato Grosso mediam entre 100 e mil hectares,
percentual que saltou para 30% em 1995. Entre
1985 e 1996, houve uma reduo de 19% dos
postos de trabalho na agricultura na regio
Centro-Oeste.
M
O espao ocupado pelo Cerrado equivale
soma das reas da Espanha, Frana, Alemanha,
Itlia e Inglaterra.
M
Apenas na rea do Distrito Federal, h 90
espcies de cupins, 1.000 espcies de borboletas
e 500 tipos diferentes de abelhas e vespas.
M
O Cerrado uma das 25 regies mais ricas em
biodiversidade e mais ameaadas do Planeta,
segundo o estudo Hotspots da Conservao
Internacional.
ao acentuamento na concetrao de renda, caso de vrios
municpios situados no Arco do Desmatamento em Mato
Grosso, por exemplo. E, apesar dos avanos, persistem bolses
de pobreza muito intensa na transio leste, entre esse bioma
e a Caatinga. No obstante, fundamental notar que a maior
parte dos indivduos pobres no Cerrado j se encontra hoje nos
grandes centros urbanos, ainda que a pobreza rural persista
em muitas reas.
Implantao de infra-estrutura
Ao agronegcio em expanso, somam-se outros
ve tores de impactos sobre o Cerrado e suas populaes: a
expanso urbana descontrolada, a implantao de novas
infra-estruturas de transporte e a matriz energtica
tambm em crescimento e diversifcao.
So todos elementos de um mesmo processo econ-
mico que no leva em considerao seus impactos sobre
o meio ambiente e a sociedade, pois rodovias, ferrovias e
hidrovias destinam-se essencialmente a propiciar condies
de expanso para o agronegcio, enquanto novas fontes de
gerao e linhas de transmisso de energia abastecero a
agroin dstria e outras atividades econmicas. A expanso
C
E
R
R
A
D
O
133 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
CONJUNTO DE ECOSSISTEMAS
O Cerrado uma savana tropical, a mais rica do
Planeta em biodiversidade. O tipo de vegetao mais
comum a formao aberta de rvores e arbustos sobre
uma camada rasteira de gramneas. Mas o Cerrado
composto por um conjunto de diferentes formaes
vegetais e ecossistemas, num gradiente vegetacional
que varia de matas densas a campos naturais.
Em termos ecolgicos, uma das caractersticas
fundamentais do bioma a existncia de duas esta-
es climticas bem defnidas, uma seca (entre abril
e setembro) e outra chuvosa (entre outubro e maro),
alm dos solos cidos e carentes de nutrientes bsicos,
como o fsforo e o clcio.
H ainda a presena do fogo. Embora seu papel seja objeto de muita polmica cientfca, os incndios naturais
so um componente da dinmica ecolgica do Cerrado. Por outro lado, certo que a ao humana tem intensifcado
a ocorrncia desse fenmeno com conseqncias negativas.
A biodiversidade do Cerrado, apesar de pouco conhecida, apresenta nmeros impressionantes. Algumas
estimativas do conta da presena de at 10 mil espcies de plantas vasculares, alm de, no mnimo, 161 espcies
de mamferos, 837 espcies de aves (4
o
lugar em diversidade no mundo), 150 espcies de anfbios (8
o
lugar em
diversidade), 120 espcies de rpteis, alm de grande concentrao de invertebrados.
Essa grande diversidade est relacionada ao fato do Cerrado apresentar zonas transicionais com os biomas
Pantanal, Amaznia, Mata Atlntica e Caatinga.
Outra caracterstica marcante da biodiver sidade nesse bioma o alto nvel de endemismo das espcies, em
funo da alta variedade e especifcidade dos ecossistemas locais.
urbana, por sua vez, o reverso da medalha do crescimento
do PIB agropecurio nacional e de nossos supervits co-
merciais (ver Crescimento Econmico, pg. 433). Ela
causada pela nfase no crescimento de atividades do setor
primrio, como a agricultura, que geram poucos empregos,
alm de impactarem seriamente o meio ambiente, sem
que outras atividades, mais intensivas em tecnologia e
conhecimento, e por isso geradoras de empregos e divisas,
sejam estimuladas e se desenvolvam no Pas.
As infra-estruturas de transporte e energia no Cer-
rado continuam a ser pensadas em funo desse modelo
agroexportador. E por isso mostram-se problemticas do
ponto de vista ambiental e de benefcios para a regio em
si. Isso fca especialmente claro quando se analisa a questo
energtica. O consumo do Centro-Oeste relativamente
modesto se comparado ao total da energia produzida pelas
usinas instaladas na regio e na Amaznia.
Grande parte da energia gerada hoje e dos constantes
investimentos na ampliao desta infra-estrutura no Centro-
Oeste destinam-se produo de alumnio na regio Norte,
de intenso consumo energtico (47% dos custos produtivos
deste metal dizem respeito energia).
Um exemplo signifcativo o da usina hidreltrica de
Serra da Mesa, em Gois. Embora tenha inundado uma
rea de 1.784 km
2
e formado um dos maiores reservatrios
de gua doce do mundo, Serra da Mesa produz apenas o
equivalente a pouco mais de trs turbinas de Itaipu. Mas
esse volume de gua foi considerado necessrio para regu-
M
A
R
I
O
F
R
I
E
D
L
N
D
E
R
Nuvens de chuva sobre o cerrado da Serra
de So Vicente em Vila Bela (MT).
134 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
A
Q
U
A
R
E
L
A
S
R
U
B
E
N
S
M
A
T
U
C
K
CERRADO
Vereda de buritis, inspirada em viagem ao noroeste de Minas Gerais, 2007.
135 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
A
Q
U
A
R
E
L
A
S
R
U
B
E
N
S
M
A
T
U
C
K
CERRADO
136 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
A
Q
U
A
R
E
L
A
S
R
U
B
E
N
S
M
A
T
U
C
K
CERRADO
137 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
A
Q
U
A
R
E
L
A
S
R
U
B
E
N
S
M
A
T
U
C
K
CERRADO
RUBENS MATUCK, 1952, paulista, artista
plstico, autor de vrios livros infanto-juvenis,
realizou vrias exposies de pintura e escultura.
Sua obra inspirada em viagens pelo interior do
Brasil registradas em cadernos de campo.
C
E
R
R
A
D
O
138 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
larizar ao longo do ano o fuxo do Rio Tocantins, de modo
a permitir a construo de outras hidreltricas a jusante e
a implantao da segunda casa de mquinas da Usina de
Tucuru, que j destina grande parte de sua energia para a
produo de alumnio.
Alternativas
A primeira e mais urgente das frentes de ao para so-
corro ao Cerrado a da conteno dos desmatamentos. Isso
passa pela reviso e efetiva implementao da legislao
forestal, pela criao de novas unidades de conservao,
MUDAN A C L I MT I C A
O aumento da temperatura, provocado pelo aquecimento global, pode fazer com que culturas perenes,
como a laranja e o caf, tendam a procurar regies com temperaturas mximas mais amenas e tenham que
ser deslocadas para o sul do Pas. Ao mesmo tempo, como mostra estudo do Ministrio do Meio Ambiente
sobre os efeitos da mudana climtica na biodiversidade brasileira, elevadas temperaturas de vero podem
condicionar o deslocamento das culturas como arroz, feijo e soja para a regio Centro-Oeste, onde est o
Cerrado. Essa mudana signifcativa no zoneamento agrcola brasileiro pode acentuar a presso da fronteira
agrcola sobre o Cerrado e a Amaznia.
SAIBA MAIS Marengo, Jos A. Mudanas Climticas Globais e seus efeitos sobre a biodiversidade. Braslia:
Ministrio do Meio Ambiente, 2006.
VEJA TAMBM Brasil (pg. 70), Mudana Climtica Global (pg. 358); O IPCC e a Mudana Climtica (pg.
360); O Brasil e a Mudana Climtica (pg. 365); Desafo do Sculo (pg. 373).
Prosa & Verso
Nem tudo
que torto
errado
Veja as pernas
do Garrincha
E as rvores
do Cerrado
(Poeslia Poesia pau-braslia,
de Nicolas Behr)
pela implantao daquelas existentes, por um expressivo
programa de recuperao de reas degradadas e pela
concretizao de mecanismos econmicos que tornem a
abertura de novas reas pouco atraentes aos proprietrios
rurais. claro que nada disso ser possvel se os rgos
ambientais continuarem desequipados, sem recursos e sem
informaes para sua atuao.
Ainda que um modelo de desenvolvimento efetivamen-
te sustentvel para o Cerrado dependa de radicais alteraes
de rumo, existe um conjunto de prticas j em disseminao
que permite reduzir sensivelmente os impactos da grande
B
E
T
O
R
I
C
A
R
D
O
/
I
S
A
Parque Nacional Grande Serto Veredas (MG), 2003.
C
E
R
R
A
D
O
139 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
UM P DE QU ?
tronco ereto e solitrio, sem ramifcaes, entre 30 e
60 cm de dimetro. Da palha de buriti, possvel fazer
telhado de casa, uma esteira, uma capa de chuva. Da
fruta se tira o vinho.
Guimares Rosa dizia que o buruti tinha muitas
cores. Quando a folha nasce, ela verde, verde. Quando
est madura, a folha amarelada. O fruto lindo, s
vezes marrom com vermelho, ou amarelo, s vezes cor
de vinho. Morena da cor de buriti, diz o Guimares
sobre uma personagem de um de seus livros.
No s o Guimares que achava o buriti bonito.
Ele mesmo, o buriti, sabe que bonito. Guimares Rosa
dizia que ele s vive s margens de riachos e crregos
porque precisa de um espelho para se olhar.
Rosa trabalhou de ajudante de vaqueiro e, em
uma das viagens, a tropa saiu da beira do Rio So Fran-
cisco e foi at perto de Cordisburgo (MG), a cidade onde
Rosa nasceu e morou quando menino. Eles viajaram
com uma boiada de 600 bois durante dez dias.
Seu Zito, cozinheiro da tropa, conta que Guimares
Rosa andava com uma cadernetinha pendurada no pes-
coo e anotava tudo, perguntava o que era cada pssaro,
cada planta. Seu Zito conta que um dia ele perguntou
para que servia uma rvore toda furada, um pau velho,
esburacado. E seu Zito respondeu ao Guimares que era
onde os papagaios faziam ninhos e chocavam seus ovos.
Esses papagaios do pau oco so os que mais sabem falar
e repetir porque desde pequeno fcavam ouvindo o
zumbido que as folhas balanando faziam dentro do
buraco. Guimares colocou em seus livros tudo que ele
viu, ouviu e imaginou na viagem que fez pela regio de
Cordisburgo, junto com os vaqueiros.
No serto dos campos gerais, a vista vai longe,
no esbarra em nada. O cu parece muito maior do
que a terra. Dizem que por isso que o povo de l
to imaginoso.
SAIBA MAIS Pindorama Filmes (www.pindorama
flmes.com.br; www.futura.org.br).
BURITI
Existem alguns livros que so to poderosos que
despertam na gente o desejo de sair mundo afora em
busca das pessoas e dos lugares descritos na estria. O
Grande Serto: Veredas um livro que faz isso. Voc
sabe o que uma vereda? Voc j escutou um buritizal?
J leu Grande Serto... do Guimares Rosa? (ver
Personagem, pg 142).
Vereda uma regio mida, beira de crregos e
riachos com muitos buritis, rvore tpica dos campos
gerais, um tipo de Cerrado. Dizem que as veredas mais
bonitas esto no norte de Minas, no parque nacional
Grande Serto: Veredas.
As veredas fcam entre as chapadas, como divis-
rias. So vales com gua, osis. Nas veredas, sempre
tem buritis. E onde tem buriti, tem gua. Tanto que
difcil atravessar uma vereda: o cho pantonoso e se
no tomar cuidado onde pisa, pode atolar.
Onde tem buritizais enormes, o povo tambm
fca receoso de entrar para pegar coquinho de buriti
por causa da sucuri. S tem um jeito: eles pegam uma
folha do buriti e batem com toda fora no cho. Devem
bater com muita fora, porque dizem que parece tiro de
espingarda. A sucuri, que no gosta do barulho, vai para
a toca dela, d um gemido que
estremece o cho.
Quando a sucuri
grita assim, por
causa do baru-
lho da folha
de buriti, o
povo fca sa-
bendo onde
ela est.
A Mauritia
fexuosa, o buriti,
um tipo de palmei-
ra do Cerrado, que chega a
30 metros de altura, com um
I
L
U
S
T
R
A
O
R
U
B
E
N
S
M
A
T
U
C
K
C
E
R
R
A
D
O
140 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
ARAGUAIA: FRONTEIRA ENTRE O CERRADO E A AMAZNIA
O Rio Araguaia o principal curso dgua do
Cerrado brasileiro, banhando e marcando as divisas
dos estados de Gois, Mato Grosso, Tocantins e Par. As
mudanas em suas paisagens e as ameaas que pairam
sobre seus ecossistemas so um testemunho da grave
situao do bioma Cerrado como um todo.
Com 2.110 km de extenso, o Araguaia nasce na
divisa dos estados de Mato Grosso e Gois, nas cercanias
do Parque Nacional das Emas, e desgua no Rio Tocantins,
na trplice divisa entre Tocantins, Par e Maranho. Seu
trajeto, entre o Cerrado e a Amaznia, faz do Araguaia um
importante corredor de biodiversidade.
Por ser um rio de plancie, o Araguaia em toda a sua
extenso possui amplas superfcies inundveis, muito
importantes em termos de biodiversidade e uso hu-
mano. Essas reas, em funo do alagamento sazonal,
possuem solos em geral bastante frteis. As lagoas e
canais a formados so ainda verdadeiros berrios da
fauna do Rio, onde os peixes e outros animais se repro-
duzem. O Araguaia forma tambm a Ilha do Bananal,
maior ilha fuvial do mundo, localizada entre os estados
de Tocantins e Mato Grosso, que reconhecida como um
Stio da Conveno Ramsar de proteo s reas mi-
das, alm de ser territrio indgena, abrigando ndios
Karaj e Av-Canoeiro, e de ser abrangida tambm pelo
Parque Nacional do Araguaia.
Alm de sua importncia para as populaes ribei-
rinhas, o Rio Araguaia uma signifcativa destinao
turstica nos quatro estados por ele banhados. Durante
a estao seca (abril a setembro), em toda a sua extenso
formam-se inmeras praias de areias brancas que so seu
principal carto-postal, procurado por milhares de turis-
tas, muitos deles atrados tambm pela grande variedade
de espcies de peixe e pelo seu volume, que ainda coloca
o Araguaia entre os rios mais piscosos do Pas, apesar da
diminuio no estoque observada nas ltimas dcadas,
em funo de impactos sobre o habitat das espcies e da
prpria pesca descontrolada e predatria.
Virtualmente intocado, como o Cerrado, at a dcada
de 1960, o Araguaia assistiu nestes quase cinquenta anos
R
O
B
E
R
T
O
L
I
N
S
K
E
R
/
T
E
R
R
A
V
I
R
G
E
M
Aldeia indgena na Ilha do Bananal.
C AR TO P OS TAL AME A ADO
C
E
R
R
A
D
O
141 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
ao desaparecimento da maior parte de sua vegetao.
Pesquisas realizadas pela Universidade Federal de Gois
do conta de que, neste Estado, restam apenas cerca de
27% da vegetao nesta Bacia.
Ainda segundo anlises desta mesma Universidade,
as mudanas sofridas pelo sistema hidrolgico do Araguaia
representam hoje o exemplo mais expressivo de resposta
geomorfolgica em curto prazo ao desforestamento em
um grande sistema fuvial prstino. Isso signifca que no
h paralelo no Planeta em termos de alteraes ambientais
to drsticas e rpidas em um rio de grande porte.
O desflorestamento da Bacia, alm de afetar
as espcies e reduzir a biodiversidade, gera um
aumento dos processos erosivos e conseqentemente
da quantidade de sedimentos carreados para os cursos
dgua. No levantamento feito, entre a dcada de 1960
e a de 1990, em conseqncia do desmatamento,
houve um aumento da ordem de 31% na carga de
sedimentos transportada pelo rio. Isso tem gerado
alteraes signifcativas nos padres de canais e na
paisagem do Rio.
Como se no bastassem os desmatamentos indu-
zidos pelas atividades agropecurias, h alguns anos
outras ameaas rondam esse importante Rio: o projeto
de implantao da Hidrovia Araguaia-Tocantins e projetos
de sete usinas hidreltricas ao longo de seu curso.
A hidrovia tem por objetivo facilitar o transporte
de cargas, sobretudo gros, entre o Centro-Oeste e
os portos do Norte do Pas, e estimular ainda mais
a expanso da fronteira agropecuria. Alm disso,
prope vrias intervenes diretas no canal do Rio, de
forma a assegurar sua navegabilidade, com possveis
conseqncias drsticas. Os projetos de gerao de
energia, por sua vez, alagaro extensas reas, com
srios impactos sobre a biodiversidade e as populaes
que vivem ao longo do Rio.
Alm disso, srios problemas ambientais afetam
a regio das nascentes desse Rio. Nas proximidades
do Parque Nacional das Emas, nos municpios de
Mineiros (GO), Alto Araguaia (MT) e Alto Taquari
(MT), o desmatamento e a ocupao pela agricultura
e pecuria dos frgeis solos arenosos das cabeceiras do
Rio j produziram aproximadamente cem voorocas,
focos erosivos de grande porte, carreando quantidades
muito grandes de sedimentos para o leito do Araguaia.
Apesar da antiguidade e da gravidade do problema os
primeiros focos remontam dcada de 1960 - , muito
pouco foi feito pelos proprietrios rurais e pelo poder
pblico para solucion-lo.
O Rio Araguaia hoje abrangido por cinco unidades
de conservao federais: o Parque Nacional das Emas,
em Gois, com 266 mil hectares, o Parque Nacional do
Araguaia, no Tocantins, com 2,23 milhes de hectares,
a Estao Ecolgica Coco-Javas, tambm no Tocantins,
com 37 mil hectares, a Reserva Extrativista do Extremo
Norte do Tocantins, com cerca de 9 mil hectares, e a
rea de Proteo Ambiental Meandros do Araguaia,
tambm em Gois, com 358 mil hectares. Alm delas,
h tambm na bacia vrias unidades de conservao
mantidas pelos estados.
Infelizmente, estas reas protegidas por si s no
so capazes de assegurar a integridade desse impor-
tante carto postal ameaado do Cerrado. O Araguaia
precisa de ajuda.
VEJA TAMBM A Hidrovia Araguaia-Tocantins e
os Xavante (pg. 489).
A pecuria tem grande impacto, inclusive na
Ilha do Bananal.
R
O
B
E
R
T
O
L
I
N
S
K
E
R
/
T
E
R
R
A
V
I
R
G
E
M
C
E
R
R
A
D
O
142 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
PERSONAGEM
GUIMARES ROSA (1908-1967)
O que melhor me alegra e entusiasma, todavia,
aqui pginas a fora, a repetida presena dos
gerais belssimos da minha terra, com as suas
veredas especfcas. Esses gerais,
que arrancham infndvel paisagem, feitos de
campos e areies e o agreste das chapadas
sempre o cho de arenito. L e alm, um
alagado, pai de rios s vezes, marcado pelos
buritis. Beirando os rios, e entre os rios e
as chapadas verde velho, vai dupla faixa
atapetada, capim de um verde infantil. So as
veredas dos gerais. Quem mora na vereda
veredeiro, quem mora nos gerais
geralista. O gado l se chama
brabeza. seu Chico
Jacinto, lhe compro a
sua brabeza. A quanto?
A cinqenta mil ris por
cabea, quanto o senhor
puder agarrar...
E indo, e indo, nunca se
afastando da gua, se
alonga, os buritizais.
Cada buriti um rei, e h
reis em multido. Aos gritos, s
centenas, vivos, verdes, nos cachos
de cocos, bicam e revoam maitacas, sofrs
e periquitos...
(trecho do prefcio de Joo Guimares Rosa
ao livro indito Gerais e cerrades de
Alexandre Barbosa da Silva, escrito em 1946
e publicado na Revista do Brasil, ano 1,
n
o
1, Rio de Janeiro, 1984, pg. 35)
Escritor consagrado, Joo Guimares Rosa nasceu
no Cerrado, em 1908, na pequena Cordisburgo, cerca
de 100 km de Belo Horizonte, a capital de Minas
Gerais. Autor do romance Grande Serto: Veredas,
considerado um dos maiores clssicos da literatura
brasileira, Guimares Rosa se defnia como homem do
serto e nele se inspirava para criar seus personagens
e histrias. Eu carrego um serto dentro de mim e o
mundo no qual eu vivo tambm um serto, escreveu
em 1991, na revista Manchete.
Em Grande Serto: Veredas, ele conta a histria
do jaguno Riobaldo em suas andanas pelo serto
mineiro e de seu amor por Diadorim, companheiro de
armas. O romance rico em neologismos e invenes
narrativas e se constri sobre uma rebuscada poesia
nascida do falar regional mineiro. Guimares Rosa,
alm de escritor, formou-se em medicina, profs-
so que exerceu por alguns anos. Depois, fez
concurso para o Instituto Rio Branco
e tornou-se diplomata.
Tanto Riobaldo quanto Ma-
nuelzo, personagem principal da
novela Uma Estria de Amor, tm muito
do vaqueiro Manuel Narde, o Manuelzo,
amigo e companheiro de viagens
do escritor. Segundo Manuelzo,
Guimares Rosa, nas vezes em
que o acompanhou pelo serto,
fazia perguntas incessantemente.
Ele perguntava mais que padre,
anotando compulsivamente as infor-
maes sobre os elementos naturais e humanos
daquelas regies: plantas, receitas, mitos, casos,
histrias etc.
Alm do Grande Serto, sua obra inclui Magma
(poemas, 1936), Sagarana (contos, 1946), Com o
Vaqueiro Mariano (1947), Corpo de Baile (contos,
1956), Primeiras Estrias (contos, 1962), Tutamia
Terceiras Estrias (contos, 1967), bem como as
publicaes pstumas Estas Estrias (1969) e Ave,
Palavra (1970).
I
L
U
S
T
R
A
O
C
A
R
L
O
S
M
A
T
U
C
K
C
E
R
R
A
D
O
143 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
agricultura em curto prazo. Basta lembrar que a Embrapa
Cerrado afrma ser possvel triplicar a produo de gros no
Cerrado e pelo menos duplicar a de carnes sem avanar mais
um s hectare na ocupao.
A presso das instituies pblicas e da sociedade,
casada a mecanismos econmicos, deveria obrigar a recupe-
rao e utilizao dos 25% de reas abertas e no utilizadas
hoje no Cerrado, especialmente as pastagens degradadas. E
existem tcnicas que permitem isso.
Nas reas de lavoura, j bastante comum a adoo
do Sistema Plantio Direto, que envolve vrias tcnicas de
manejo de solo que cobem sua degradao, tais como
o terraceamento e a no-remoo da cobertura vegetal
remanescente da safra anterior.
Outro caminho o da integrao lavoura-pecuria na
propriedade rural. Integrar agricultura e pecuria signifca
diversifcar a produo, pensando estas duas atividades den-
tro de um mesmo sistema, de forma a aumentar a efcincia
da produo e da utilizao dos recursos naturais. Existem
vrios sistemas, como a sucesso de lavouras e forrageiras
anuais, a rotao pastagem/lavoura, entre outros (ver
Agricultura Sustentvel, pg. 414).
Do ponto de vista dos recursos hdricos, necessrio que
se comece a inibir fortemente a implantao de novos pivs
centrais e que se viabilize, do ponto de vista econmico,
a substituio gradual dos existentes por tcnicas menos
desperdiadoras de gua para a irrigao.Para alm da
agricultura, urgente ainda a implementao de mecanis-
mos que permitam uma adequada avaliao dos impactos
socioambientais dos projetos de infra-estrutura planejados
ou em implantao no Cerrado.
Nenhuma dessas medidas ser capaz de construir o
caminho da sustentabilidade, entretanto, se por trs e ao
redor delas no se processar uma radical mudana na viso
que a populao e as polticas pblicas tm do Cerrado, pas-
sando a valor-lo em funo de sua preciosa biodiversidade
e de sua diversidade social, e no como mera fronteira para
expanso do agronegcio.
SAIBA MAIS Aes prioritrias para a conservao da
biodiversidade do Cerrado e Pantanal. Braslia: Conserva-
tion International, 1999.
CULINRIA
O pequizeiro (Caryocar brasiliensis) uma
rvore do cerrado. O fruto do pequi, de um
amarelo vivo, com cheiro e sabor extico e bas-
tante gorduroso, ingrediente de vrios pratos
da culinria do Centro-Oeste, como o arroz com
pequi e o frango com pequi.
Arroz com pequi
1/4 de xcara de ch de leo ou banha de porco
1/2 quilo de pequi lavado
2 dentes de alho espremidos
1 cebola grande picada
2 xcaras de ch de arroz
4 xcaras de ch de gua quente
Sal a gosto
Pimenta-de-cheiro a gosto
Salsinha e cebolinha picadas a gosto
Coloque o pequi no leo ou gordura fria (se
quiser tirar a polpa da fruta, cuidado com o caroo
cheio de espinhos). Acrescente o alho e a cebola e
deixe refogar em fogo baixo, mexendo sempre com
uma colher de pau para no grudar na panela, e
respingue um pouco de gua quando for necess-
rio. Quando o pequi j estiver macio e a gua tiver
secado, acrescente o arroz e deixe fritar um pouco.
Junte a gua e o sal. Quando o arroz estiver quase
pronto, coloque a pimenta-de-cheiro ou malague-
ta a gosto. Na hora de servir, polvilhe o arroz com
salsa e cebolinha e um pouco de pimenta.
A
C
E
R
V
O
I
S
A
M
A
T
A
A
T
L
N
T
I
C
A
144 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
MATA ATLNTICA
MIRIAM PROCHNOW*
70% da populao brasileira vive num lugar de enorme riqueza de biodiversidade
e um dos mais ameaados do Planeta
A Mata Atlntica o segundo bioma mais ameaado
de extino do Planeta; s as florestas de Madagascar
esto mais ameaadas. Apesar disso, ela mantm ndices
altssimos de biodiversidade (um dos maiores do mundo),
que a classifca como um hotspot, ou seja, um lugar onde
existe uma grande riqueza de diversidade biolgica e ao
mesmo tempo sofre uma grande ameaa.
A Mata Atlntica considerada Patrimnio Nacional
pela Constituio Federal e abrange total ou parcialmente 17
estados brasileiros e mais de 3 mil municpios. No Nordeste,
abrange tambm os encraves forestais e brejos interioranos,
no Sudeste alcana parte dos territrios de Gois e Mato
Grosso do Sul e no Sul estende-se pelo interior, alcanando
inclusive parte dos territrios da Argentina e Paraguai.
Quando os primeiros europeus chegaram ao Brasil, em
1500, a Mata Atlntica cobria 15% do territrio brasileiro, rea
equivalente a 1.306.421 km
2
. Atualmente existem variaes
com relao ao nmero de remanescentes de um estado para
outro. O ndice geral ainda utilizado atualmente o de 1995,
aferido em um levantamento feito pela Fundao SOS Mata
Atlntica, Instituto Socioambiental, Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais e Sociedade Nordestina de Ecologia, que
aponta que no Brasil h apenas 7,84% de remanescentes da
Mata Atlntica, com cerca de 102.000 km
2
.
Os novos levantamentos que esto sendo realizados
pelo governo federal devem mudar um pouco esse pano-
rama, nmeros parciais indicam um percentual em torno
de 20%, quando se leva em conta os estgios mdios de
regenerao da foresta. Isso aponta para a capacidade da
Rodovia dos Imigrantes (SP). Milhares de turistas descem semanalmente a Serra do Mar um dos maiores macios
forestais de Mata Atlntica em direo s praias do litoral paulista.
M
O
A
C
Y
R
L
O
P
E
S
J
U
N
I
O
R
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
(
2
0
0
0
)
*Pedagoga, especialista em Ecologia Aplicada na rea de Mata Atlntica. coordenadora
de Desenvolvimento Institucional e conselheira da Associao de Preservao do Meio
Ambiente do Alto Vale do Itaja (Apremavi), ex-coordenadora geral da Rede de ONGs da
Mata Atlntica (RMA) e lder-parceira da Avina
M
A
T
A
A
T
L
N
T
I
C
A
145 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
UM P DE QU ?
XAXIM
Quem tem mais de 40 anos com certeza se lembra
da moda da samambaia no vaso de xaxim dos anos de
1970. Naquela poca, bacana era ser descabelada.
E se voc tem mais de 40, e fr como a maioria,
deve trazer desde essa poca at hoje aquela dvida:
afnal, o que o xaxim? Ele vaso ou planta? Ele est
vivo ou est morto? Do que ele feito? De onde ele
vem? arvore, raiz ou arbusto? Essa coisa meio fbra,
meio vegetal, meio sei l o qu. O que o xaxim?!
Pois o xaxim no nada disso: nem rvore nem
raiz nem arbusto. O xaxim, na verdade, um feto arbo-
rescente. Conhecia? isso mesmo ele um feto, um
feto arborescente. Sabe aquele momento do vir a ser?
Pois o xaxim assim, um arborescente.
O xaxim, que muita gente
pensa que s um vaso
de planta, uma espcie
antiqssima, uma plan-
ta pr-histrica, de
mais de 300 mi-
lhes de anos.
Na botni ca,
se diz que o xaxim pertence diviso
das pterydophytas, ou seja, ele uma
samambaia. E as samambaias eram bas-
tante abundantes no perodo jurssico,
mesmo antes do surgimento dos grandes
dinossauros. Desde aquela poca, o xaxim
sempre adorou encostas midas e vales sombreados
prximos ao leito dos rios. O xaxim popularmente
conhecido como samambaio ou samambaia-au. O
caule composto por uma espcie de fbra, que na ver-
dade so as razes externas. L no topo, tem a copa, que
formada por uma coroa de folhas que caem chegando
a at 5 metros de comprimento. O xaxim pode medir
at 10 metros de altura: ele cresce bem devagar, cerca
de 5 a 8 centmetros por ano. Para atingir um tamanho
bom para o corte, ele demora uns 50 anos. Ja imaginou?
Para fazer aquele vaso, o xaxim demora, pelo menos,
meio sculo para crescer.
Se engana quem pensa que o xaxim s usado
para jardinagem. Ele tem uso alimentcio e farma-
cutico. A partir do miolo que retirado do xaxim, so
produzidos biscoitos, xarope, elixir, ch. Mas mesmo
como vaso que ele mais conhecido. Aquela parte
da planta que parece fbrosa, as razes externas, tem
grande capacidade de reter umidade, boa drenagem
e excelente para a conservao das plantas. Mas se
a extrao do xaxim para fazer vasos continuar como
est, em poucos anos ele pode ser extinto.
A extrao do xaxim proibida em todo o terri-
trio nacional desde 1992. No Brasil, o
estado onde mais se produz xaxim
o Paran. Mas, segundo o Ibama, a
comercializao s possvel
a partir da produo em con-
dies de viveiro. As pessoas
que j tinham xaxim em suas
propriedades foram obrigadas a
fazer um cadastro junto ao Ibama
prestando contas de quantos ps
de xaxim possuiam e, a partir da,
da movimentao dessa produo.
Isso feito atravs de um relatrio mensal. A no
apresentao desse relatrio faz com que o produtor
esteja sujeito a inspeo do rgo.
Com a proibio pelo Ibama da explorao do
xaxim natural, produtores e comerciantes foram
obrigados a buscar alternativas. Materiais como a fbra
do coco verde reciclada e a casca do pinheiro tm sido
algumas dessas alternativas.
Ento, agora que vocs j sabem o que um
xaxim, vamos pensar duas vezes antes de comprar um
vaso feito dele!
SAIBA MAIS Pindorama Filmes (www.pindorama
flmes.com.br; www.futura.org.br).
I
L
U
S
T
R
A
O
R
U
B
E
N
S
M
A
T
U
C
K
o Paran. Mas, segundo o Ibama, a
M
A
T
A
A
T
L
N
T
I
C
A
146 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
Mata Atlntica de se regenerar. No entanto, no muda a
situao crtica em que se encontram os estgios avanados
e primrios da foresta, que so exatamente os mais bem
conservados. Os prprios dados recentemente divulgados
pela Fundao SOS Mata Atlntica, para oito estados,
apontam que o ritmo de desmatamento diminuiu em
alguns estados e que j temos algum sinal de vida para
comemorar. Entretanto, estados como Santa Catarina, que
foi o campeo de desmatamento nesse novo levantamento,
seguido pelo Paran, apontam que ainda temos muitos
problemas para resolver.
Alm disso, importante destacar que estes 7,84%
no esto distribudos de forma equilibrada entre as vrias
ftofsionomias do Bioma. Ecossistemas como a foresta
ombrfla mista (a Floresta com Araucrias), as forestas
estacionais, os campos de altitude, os manguezais
e as restingas esto muitos ameaados e as perdas
continuam sendo grandes. Da foresta com araucrias,
por exemplo, restam menos de 3% de remanescentes. Dessa
forma, a situao ainda mais grave, pois esse um dos ecossis-
temas mais ameaados, dentro do Bioma mais ameaado. Essa
a realidade com a qual a populao da Mata Atlntica tem que
conviver e um grande desafo conservar o que ainda resta e
recuperar reas prioritrias. Uma das metas da Conveno da
Biodiversidade, por exemplo, diz que precisamos ter 10% de
cada bioma preservado em unidades de conservao, sendo
que na Mata Atlntica esse ndice mal chega a 3%.
Mesmo reduzido e muito fragmentado, o bioma
Mata Atlntica ainda um dos mais ricos do mundo em
diversidade de plantas e animais. Considerando-se apenas
o grupo das angiospermas (vegetais que apresentam suas
sementes protegidas dentro de frutos), acredita-se que o
Brasil possua entre 55.000 e 60.000 espcies, ou seja, de
22% a 24% do total que se estima existir no mundo. Desse
total, as projees indicam que a Mata Atlntica tenha cerca
de 20.000 espcies, ou seja, entre 33% e 36% das existentes
LIMITES DA MATA ATLNTICA
A LEI DA MATA ATLNTICA
A importncia da Mata Atlntica passou a ser amplamente reconhecida no fnal da dcada de 1980, quando foi
declarada Patrimnio Nacional pela Constituio Federal de 1988. Alguns anos depois, o Conama apresentou uma
minuta de decreto que defnia legalmente o domnio desse Bioma e a proteo de seus remanescentes forestais
e matas em regenerao. A partir das diretrizes desse Decreto Federal 750/93 foi formulado o Projeto de Lei da
Mata Atlntica, apresentado em 1992 pelo ex-deputado Fbio Feldmann.
O PL, que gerou muitas discusses entre ambientalistas e ruralistas, tramitou no Congresso Nacional por
quatorze anos e fnalmente foi aprovado e sancionado em 22 de dezembro de 2006, sob o nmero 11.428. A Lei
da Mata Atlntica, como conhecida, dever garantir a conservao da vegetao nativa remanescente porque
determina critrios de utilizao e proteo, alm de impor critrios e restries de uso, diferenciados para esses
remanescentes, considerando a vegetao primria e os estgios secundrio inicial, mdio e avanado de rege-
nerao (ver Legislao Brasileira, pg. 484).
M
A
T
A
A
T
L
N
T
I
C
A
147 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
MUDAN A C L I MT I C A
no Pas, 8 mil delas so endmicas. a foresta mais rica do
mundo em diversidade de rvores. No sul da Bahia, foram
identifcadas 454 espcies distintas em um s hectare.
Vrias espcies endmicas so frutas conhecidas, como o
caso da jabuticaba, que cresce grudada ao tronco e aos galhos da
jabuticabeira (Myrciaria truncifora), da seu nome iapoti-kaba,
que signifca frutas em boto em tupi. Outras frutas tpicas da
Mata Atlntica so a goiaba, o ara, a pitanga, o caju e as menos
conhecidas cambuci, cambuc, cabeludinha e uvaia. Outra
espcie endmica do Bioma a erva-mate, matria-prima do
chimarro, bebida bastante popular na regio Sul.
Muitas dessas espcies, porm, esto ameaadas de
extino. Comeando pelo pau-brasil, espcie cujo nome
batizou o Pas, vrias espcies foram consumidas exaus-
to ou simplesmente eliminadas para limpar terreno para
culturas e criao de gado. Atualmente, alm do desmata-
mento, outros fatores concorrem para o desaparecimento
de espcies vegetais, como o comrcio ilegal. Um exemplo
o palmito-juara (Euterpe edulis), espcie tpica da Mata
Atlntica, cuja explorao intensa a partir da dcada de 1970
quase levou extino. Apesar da retirada sem a realizao
e aprovao de plano de manejo ser proibida por lei, a
explorao clandestina continua forte no Pas. Orqudeas
e bromlias tambm so extradas para serem vendidas e
utilizadas em decorao. Plantas medicinais so retiradas
sem qualquer critrio de garantia de sustentabilidade.
Em um bioma onde as espcies esto muito entrelaadas
em uma rede complexa de interdependncia, o desapareci-
mento de uma planta ou animal compromete as condies
de vida de vrias outras espcies. Um exemplo o jatob
(Hymenaea courbarail). A disperso de suas sementes depende
que seu fruto seja consumido por roedores mdios e grandes
capazes de romper a sua casca. Como as populaes desses
roedores esto diminuindo muito, os frutos apodrecem no
cho sem permitir a germinao das sementes. Com isso, j
so raros os indivduos jovens da espcie. medida em que os
Em todo o Sudeste brasileiro e regio da Bacia do Prata, onde h grande parte dos remanescentes de Mata
Atlntica (e tambm o Pantanal), as elevadas temperaturas do ar provocadas pelo aquecimento global simuladas
pelos cenrios previstos para a regio poderiam, de alguma forma, comprometer a disponibilidade de gua para
a agricultura, consumo ou gerao de energia, devido a um acrscimo previsto na evaporao.
A extenso de uma estao seca em algumas regies do Brasil poderia afetar o balano hidrolgico regional
e, assim, comprometer atividades humanas, ainda que haja alguma previso de aumento de chuvas para essa
regio no futuro. Essas informaes esto em estudo do Ministrio do Meio Ambiente sobre os efeitos da mudana
climtica na biodiversidade brasileira.
Outro estudo, realizado pela Embrapa Informtica Agropecuria, em conjunto com a Unicamp, em 2005,
concluiu que a produo agrcola brasileira poder sofrer grande impacto com as mudanas de temperatura e
regime hdrico. Nos cenrios estudados, o cultivo de caf arbica em Gois, Minas Gerais, So Paulo e Paran poder
ser reduzido drasticamente nos prximos cem anos. Em So Paulo, se o aumento da temperatura mdia for at
5 C, as reas de cultivo de caf devero diminuir em mais de 70%, porque o aumento da temperatura reduz a
produo de folhas e a atividade fotossinttica dos cafeeiros.
SAIBA MAIS Marengo, Jos A. Mudanas Climticas Globais e seus efeitos sobre a biodiversidade. Braslia:
Ministrio do Meio Ambiente, 2006.
VEJA TAMBM Brasil (pg. 70), Mudana Climtica Global (pg. 358); O IPCC e a Mudana Climtica (pg.
360); O Brasil e a Mudana Climtica (pg. 365); O Desafo do Sculo (pg. 373).
M
A
T
A
A
T
L
N
T
I
C
A
148 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
M
Floresta Ombrfla Densa Estende-se do Ce-
ar ao Rio Grande do Sul, localizada principalmente
nas encostas da Serra do Mar, da Serra Geral e em
ilhas situadas no litoral entre os estados do Paran e
do Rio de Janeiro. marcada pelas rvores de copas
altas, que formam uma cobertura fechada.
M
Floresta Ombrfla Mista Conhecida como
Mata de Araucria, pois o pinheiro brasileiro
(Araucaria angustifolia) constitui o andar superior
da foresta, com sub-bosque bastante denso. Re-
duzida a menos de 3% da rea original sobrevive
nos planaltos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina
e Paran, e em macios descontnuos, nas partes
mais elevadas de So Paulo, Rio de Janeiro e sul de
Minas Gerais.
M
Floresta Ombrfla Aberta A vegetao
mais aberta, sem a presena de rvores que fechem
as copas no alto, ocorre em regies onde o clima
apresenta um perodo de dois a, no mximo, quatro
meses secos, com temperaturas mdias entre 24 C e
25 C. encontrada, por exemplo, na Bahia, Esprito
Santo e Alagoas.
M
Floresta Estacional Semidecidual Conhecida
como Mata de Interior, ocorre no Planalto brasileiro,
nos estados de So Paulo, Paran, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Alguns encraves ocorrem no Nordeste.
M
Floresta Estacional Decidual uma das mais
ameaadas, com poucos remanescentes em regies
da Bahia, Minas Gerais, Esprito Santo, So Paulo e
Rio de Janeiro. Sua vegetao ocorre em locais com
duas estaes bem demarcadas: uma chuvosa, segui-
PAISAGENS E ECOSSISTEMAS
O Bioma Mata Atlntica formado por um complexo conjunto de ecossistemas, que conferem uma
grande diversidade paisagem:
da de longo perodo seco. Mais de 50% das rvores
perdem as folhas na poca de estiagem.
M
Campos de Altitude Normalmente ocorrem
em elevaes e em linhas de cumeadas, associa-
dos ou no a fragmentos florestais. A vegetao
caracterstica formada por comunidades de
gramneas, em certos lugares, interrompida
por pequenas charnecas. Freqentemente nas
maiores altitudes ocorrem topos planos ou picos
rochosos, como no Parque Nacional de Itatiaia
(localizado entre Rio de Janeiro, So Paulo e
Minas Gerais).
M
Brejos Interioranos Ocorrem como encraves
forestais (vegetao diferenciada dentro de uma
paisagem dominante), em meio Caatinga e tm
importncia vital para a regio nordestina, pois
possuem os melhores solos para a agricultura e esto
diretamente associados manuteno dos rios. So
tambm conhecidas como serras midas.
M
Manguezais Formao que ocorre ao longo dos
esturios, em funo da gua salobra produzida pelo
encontro da gua doce dos rios com a do mar. uma
vegetao muito caracterstica, pois tem apenas sete
espcies de rvores, mas abriga uma diversidade de
microalgas pelo menos dez vezes maior.
M
Restinga Ocupa grandes extenses do litoral,
sobre dunas e plancies costeiras. Inicia-se junto
praia, com gramneas e vegetao rasteira, e torna-se
gradativamente mais variada e desenvolvida medida
que avana para o interior, podendo tambm apresentar
brejos com densa vegetao aqutica. Abriga muitos
cactos e orqudeas.
M
A
T
A
A
T
L
N
T
I
C
A
149 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
adultos forem morrendo, faltar alimentos para os morcegos,
que se alimentam do nctar das fores de jatob.
Estima-se que no Bioma existam 1,6 milho de espcies
de animais, incluindo os insetos. Algumas espcies possuem
ampla distribuio, podendo ser encontradas em outras
regies, como so os casos da ona-pintada, ona-parda,
gatos-do-mato, anta, cateto, queixada, alguns papagaios,
corujas, gavies e muitos outros. O que mais impressiona,
no entanto, a enorme quantidade de espcies endmicas,
ou seja, que no podem ser encontradas em nenhum outro
lugar do Planeta. Esto catalogadas 270 espcies de mam-
feros, das quais 73 so endmicas, entre elas 21 espcies e
subespcies de primatas. No total, a Mata Atlntica abriga
849 espcies de aves, 370 espcies de anfbios, 200 de rpteis
e cerca de 350 espcies de peixes.
Mas essa grande biodiversidade no faz com que a situ-
ao deixe de ser extremamente grave. A lista das espcies
ameaadas de extino, publicada pelo Ibama em 1989, j
trazia dados impressionantes: Das 202 espcies de animais
consideradas ofcialmente ameaadas de extino no Brasil,
171 eram da Mata Atlntica. A nova lista, publicada pelo
Ministrio do Meio Ambiente em maio de 2003, traz dados
ainda mais alarmantes: O total de espcies ameaadas,
incluindo peixes e invertebrados aquticos, subiu para 633,
sendo que sete constam como extintas na natureza.
Segundo levantamento da Conservao Internacional,
a maior parte das espcies da nova lista publicada pelo Minis-
trio do Meio Ambiente habita a Mata Atlntica. Do total de
265 espcies de vertebrados ameaados, 185 ocorrem nesse
bioma (69,8%), sendo 100 (37,7%) deles endmicos. Das 160
aves da relao, 118 (73,7%) ocorrem nesse Bioma, sendo 49
endmicas. Entre os anfbios, as 16 espcies indicadas como
ameaadas so consideradas endmicas da Mata Atlntica.
Das 69 espcies de mamferos ameaados, 38 ocorrem
nesse bioma (55%), sendo 25 endmicas, como o tamandu-
bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e o muriqui, tambm
conhecido como mono-carvoeiro (Brachyteles arachnoides), o
maior primata do continente americano e o maior mamfero
endmico do territrio brasileiro.
Alm da perda de habitat, as espcies da Mata Atlntica
so grandes vtimas do trfco de animais, comrcio ilegal
que movimenta 10 bilhes de dlares no Brasil. Segundo as
estimativas, em cada 10 animais trafcados, apenas um resis-
Z
I
G
K
O
C
H
Z
I
G
K
O
C
H
M
I
R
I
A
M
&
W
I
G
O
L
D
M
I
R
I
A
M
&
W
I
G
O
L
D
J
O
O
P
A
U
L
O
C
A
P
O
B
I
A
N
C
O
/
I
S
A
M
A
T
A
A
T
L
N
T
I
C
A
150 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
PERSONAGEM
RICARDO ARNT*
TOM JOBIM (1927-1994)
Tom Jobim um valor precioso para uma cultura
zonza entre as opes que no faz, como a brasileira.
De tudo o que se disse sobre a bossa-nova, e li diu-
se que ela uma esttica ondulada pelo mar, emol-
durada pelo horizonte e pela montanha, depurada
pelo cenrio solar do Rio de Janeiro e moradora da
geografia simblica de um Brasil descongestionado,
em um momento anterior quelas transformaes
que Chico Buarque e Roberto Menescal resumiram
em um verso emblemtico de Bye-Bye Brasil: Aquela
aquarela mudou. Ou seja, a bossa-nova tambm
"ecolgica".
A obra de Jobim refrata uma educao dos
sentidos temperada pela erudio musical e por uma
experincia sensvel ao sortilgio ecolgico brasilei-
ro. Como Dorival Caymmi ressaltou, Jobim sempre
se destacou como profissional que assombrava o
ambiente musical intuitivo de sua poca pelo apuro
tcnico. Sem a competncia culta de arranjador,
maestro, violonista, pianista e flautista, jamais teria
tido o reconhecimento que teve.
A intimidade com Debussy, Mozart, Ravel, Villa
Lobos, Koellreuter, Radams Gnatalli e os mestres
do jazz projeta a obra de Jobim para alm de uma
cultura cartorial e patrimonialista que se d ao luxo
de ser indiferente meritocracia. Ela conjuga a
experincia de purgao da marginalidade, tpica
da msica popular, com uma vitria do mrito que
uma aspirao universal reprimida no Pas.
Mas a excelncia no basta para explicar a apa-
rncia jubilosa da forma. Para ns, h a um apelo
natureza brasileira como sentimento de valor real, no
*Jornalista, Assessor de Comunicao da Presidncia da Natura,
autor de Um Artifcio Orgnico: Transio na Amaznia e Ambientalismo
(Rocco, 1992), entre outros livros
virtual, como diferena
consciente da sua po-
tncia enfraquecida, que
Jobim to acusado
de alienao por
uma certa esquer-
da , defendeu co-
mo arauto e projetou para
a posteridade em discos
como Matita Per (73), Urubu (75) e Passarim (87).
Toda sua obra destila afeto pela natureza brasileira,
especialmente a da maturidade.
No Brasil, estetiza-se a natureza para compensar
o desencanto com a cultura, mas poucos se interes-
sam por uma cultura da natureza. A intimidade de
Jobim com o artifcio da msica permitiu-lhe tomar
a natureza como artifcio para valoriz-la como
poucos. Em sua obra desfila a identidade nacional
que a turbulncia e a leviandade desses tempos
se empenham em denegar, tanto que identidade
nacional virou conceito-lixo, totem do mau-gosto
intelectual, a ponto de se esquecer que ela existe
malgr nous. A morte desse maestro que transmu-
tava valores e conciliava cultura e natureza na clave
de sol de Euclides da Cunha, Oswald de Andrade,
Gilberto Freyre e Guimares Rosa leva um pouco do
melhor de ns nosso tom perfeito.
SAIBA MAIS Instituto Antonio Carlos Jobim
(www.antoniocarlosjobim.org).
SOCIOAMBIENTAL SE ESCREVE JUNTO
I
L
U
S
T
R
A
O
C
A
R
L
O
S
M
A
T
U
C
K
M
A
T
A
A
T
L
N
T
I
C
A
151 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
VOC SABIA?
M
A erva-mate um produto tpico da Mata Atlntica e emprega, direta e indiretamente, 700 mil pessoas,
o equivalente indstria automobilstica no Brasil. Com 95% de sua produo concentrada no Rio Grande do
Sul, a produo de erva-mate envolve 166 mil propriedades rurais. A participao dos produtos artesanais da
Mata Atlntica no Produto Interno Bruto (PIB) do Pas tambm equivale ao da indstria automobilstica. Outro
exemplo a castanha de caju, espcie da Mata Atlntica, que representa 40% das exportaes do Cear.
M
Localizado entre os estados do Paran e So Paulo, o Vale do Ribeira abriga mais de 2,1 milhes de hectares
de forestas, 150 mil de restingas e 17 mil de manguezais, formando o maior remanescente contnuo de
Mata Atlntica. Formado pela Bacia Hidrogrfca do Rio Ribeira de Iguape e o Complexo Estuarino Lagunar
de Iguape, Canania e Parangu, o Vale do Ribeira, apesar da localizao estratgica e da riqueza cultural
no Vale habitam comunidades indgenas, caiaras, remanescentes de quilombos e pequenos agricultores
familiares , possui os mais baixos indicadores sociais dos estados de So Paulo e Paran, os mais altos ndices
de mortalidade infantil e analfabetismo.
M
Com o enchimento do lago da hidreltrica de Barra Grande (divisa de SC com RS) foram inundados os locais das
ltimas populaes da bromlia Dyckia distachya, que dessa forma foi perdida para sempre da natureza.
M
Os campos de altitude associados Mata Atlntica esto hoje seriamente ameaados. O agravante a
carncia absoluta de instrumentos de proteo e ordenao do uso das reas originalmente cobertas por essas
formaes. Esse quadro propiciou toda sorte de intervenes sobre os campos, fazendo com que extensas reas
fossem completamente convertidas em cultivos agrcolas ou reforestamentos com essncias exticas.
MSICA
GUSTAVO PACHECO
Entre as populaes que habitam as reas
de Mata Atlntica do litoral do Paran e do sul de
So Paulo, o gnero musical mais caracterstico
o fandango, cuja realizao era relacionada aos
mutires de trabalho e que por muito tempo foi a
nica diverso do caiara. A comunidade se reunia
para o servio e era paga pelo dono do servio
com um baile de fandango. Hoje, o fandango tem
que se adaptar aos novos tempos: muitos fandan-
gueiros foram deslocados de suas propriedades
devido implantao de reas de preservao
ambiental e comeam a escassear madeiras como
a caxeta, usada na fabricao artesanal das violas
e rabecas (ver A identidade brasileira atravs
da msica, pg. 68).
te s presses da captura e cativeiro. Existe ainda o problema
de espcies que invadem regies de onde no so nativas,
prejudicando as espcies locais, seja pela destruio de seu
prprio habitat, seja por solturas mal feitas de animais apre-
endidos. Um exemplo aconteceu no Parque Estadual da Ilha
Anchieta, em So Paulo, onde foram soltas, pelo governo, em
1983, vrias espcies de animais, entre elas 8 cutias e 5 mico-
estrelas sagi natural de Minas Gerais. Sem predadores e
com alimento abundante, essas espcies se multiplicaram
livremente e hoje contam com populaes de 1.160 e 654
indivduos, respectivamente. Como conseqncia, cerca de
100 espcies de aves, cujos ninhos so predados por esses
animais, foram extintas na ilha.
A conservao da Mata Atlntica importantssima
para cerca de 120 milhes de pessoas que vivem na regio,
70% da populao brasileira. A qualidade de vida desse
contingente populacional depende dos servios ambientais
prestados pelos remanescentes, na proteo e manuteno
de nascentes e fontes que abastecem as cidades e comuni-
dades do interior, na regulao do clima, da temperatura,
M
A
T
A
A
T
L
N
T
I
C
A
152 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
PROTEO EM TERRAS PRIVADAS
MRCIA HIROTA*
Uma grande parcela do que resta de Mata Atlntica
est na mo de proprietrios particulares, por isso to
essencial incentivar entre eles mecanismos de proteo
destes remanescentes forestais. A principal ferramenta
que se tem em mos atualmente chamada Reserva
Particular do Patrimnio Natural (RPPN).
A RPPN uma categoria de rea protegida prevista
na legislao ambiental brasileira (lei 9.985/2000, do
Sistema Nacional de Unidades de Conservao Snuc). Ela criada por iniciativa e deciso do proprietrio.
reconhecida pelos rgos ambientais (Ibama, os estados Mato Grosso do Sul, Paran, Pernambuco, Minas Gerais,
Esprito Santo, Bahia, Alagoas e Cear e alguns municpios) e criada em carter perptuo, sem necessidade de
desapropriao da rea.
Tambm no h restrio quanto ao tamanho da rea, sendo que a RPPN pode abrigar apenas atividades de
pesquisa cientfca, turismo ou educao ambiental.
Existem no Brasil mais de 700 RPPNs. S na Mata Atlntica elas so mais de 500 reservas, que protegem cerca
de 100 mil hectares. Os proprietrios dessas reas formam uma grande rede pela conservao do Bioma, sendo
organizados em Associaes Estaduais e em uma Confederao Nacional.
A Aliana para a Conservao da Mata Atlntica uma parceria entre as organizaes ambientalistas Conservao
Internacional (CI-Brasil) e Fundao SOS Mata Atlntica coordena um Programa de Incentivo s Reservas Particulares
do Patrimnio Natural (RPPNs) da Mata Atlntica com apoio do Fundo de Parceria para Ecossistemas Crticos (CEPF) e
Bradesco Cartes. O Programa, criado em 2003 com o objetivo de contribuir para o aumento da rea protegida da Mata
Atlntica e de fortalecer o movimento pelas RPPNs no Brasil, destina recursos fnanceiros, a fundo perdido, para apoio
gesto e sustentabilidade das RPPNs existentes e tambm para aqueles que desejam criar novas reservas. Desde o
ano passado, a Aliana conta com a participao da The Nature Conservancy (TNC) e do Bradesco Capitalizao.
Nos cinco editais j realizados desde 2003, 131 projetos foram contemplados, em apoio a 33 RPPNs
e para criao de pelo menos 200 novas reservas privadas, localizadas especialmente nos Corredores de
Biodiversidade da Serra do Mar, Central da Mata Atlntica
e, mais recentemente, do Nordeste e a Ecorregio Floresta
com Araucria.
Diferente de outros fundos, os recursos desses editais
so repassados diretamente ao proprietrio interessado em
criar uma RPPN, de forma simples e desburocratizada. Com
esta iniciativa, tm-se a garantia da preservao de trechos
de terras como parte importante do patrimnio natural do
Pas, ou seja, mais um passo em favor da conservao da
biodiversidade brasileira.
ZOOM
SAIBA MAIS Aliana para a Conserva-
o da Mata Atlntica (www.alianca-
mataatlantica.org.br).
VEJA TAMBM reas Protegidas (pg.
261); Legislao Brasileira (pg. 483).
*Diretora de Gesto do Conhecimento da Fundao SOS Mata Atlntica
A
N
T
N
I
O
B
R
A
G
A
N
A
Laboratrio na RPPN Feliciano Miguel Abdala (MG).
M
A
T
A
A
T
L
N
T
I
C
A
153 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
CULINRIA
Farofa de Pinho
500 gramas de pinho ralado, cozido
100 gramas de bacon
250 gramas de manteiga
2 dentes de alho socados
2 pimentes picados
2 mas verdes picadas
500 gramas de farinha de mandioca
100 gramas de passas
Sal a gosto
M
Preparo: Picar e fritar o bacon, derreter a
manteiga, fritar o alho, a cebola e acrescentar
o restante.
M
Dica: Para cozinhar o pinho, use panela de
presso. Cubra com gua, sal e cozinhe por 30
minutos, contados a partir do incio da presso,
ou at que o pinho esteja macio.
da umidade e das chuvas. Os remanescentes de vegetao
nativa tambm asseguram a fertilidade do solo e protegem
escarpas e encostas de morros dos processos erosivos (ver
Servios Ambientais, pg. 459).
Ameaas
Muitos ainda so os fatores que impactam e contribuem
com a degradao da Mata Atlntica. Um deles o avano das
cidades sem que haja um planejamento e merc da espe-
culao imobiliria. A maioria das polticas de loteamentos
no leva em conta os remanescentes forestais e acha que
as cidades no precisam cumprir o Cdigo Florestal. claro
que na seqncia disso temos a destruio de ecossistemas e
desastres como loteamentos inteiros deslizando pelos morros
ou ento fcando dentro da enchente porque se instalaram em
reas de preservao permanente.
H tambm os grandes empreendimentos, em especial,
as hidreltricas. Dois exemplos so as hidreltricas que j
foram implantadas e as previstas na Bacia do Rio Uruguai,
na divisa de Santa Catarina com Rio Grande do Sul, e as
hidreltricas previstas para a Bacia do Rio Ribeira de Iguape,
na divisa de So Paulo com Paran. Na Bacia do Rio Uruguai,
recentemente a questo emblemtica foi a de Barra Grande:
uma hidreltrica construda com base num estudo de impac-
to ambiental fraudado que resultou na perda, para sempre,
de cerca de 6.000 hectares de foresta com araucria, com
quase 3.000 hectares de foresta primria.
Existem ameaas tambm vindas das atividades de
minerao, especialmente na regio sul de Santa Catarina e
reas de Minas Gerais e Esprito Santo. Essa atividade ocupa
grandes reas, o que signifca dizer que os impactos ambientais
negativos tambm so de grande monta e j causaram o desa-
parecimento de grande nmero de remanescentes forestais.
Uma outra questo importante a ser considerada o
avano de monoculturas de rvores exticas e da prpria
agricultura feita sem planejamento ou ordenamento. Atu-
almente, ainda temos desmatamentos sendo feitos para
o plantio de exticas e gros e um descaso dos governos
estaduais que no controlam o avano predatrio dessas
atividades. Precisaramos, urgentemente, de um zoneamen-
to ambiental e econmico, para que as atividades fossem
realizadas de forma ordenada. Precisamos tambm saber
aproveitar os bons exemplos. Na atividade de plantio de
forestas exticas, j existem vrias empresas dando timos
exemplos que deveriam ser difundidos e consolidados.
Mas na rea forestal existem tambm outros problemas
como a explorao seletiva de espcies ameaadas de extino.
Os estados do Paran, Santa Catarina e Bahia so exemplos
disso. Recentemente os rgos ambientais estaduais ainda
licenciavam o corte de espcies como a imbuia, a canela-preta
e a araucria. Na Bahia, existe um verdadeiro industrianato
(indstria do artesanato) que usa espcies ameaadas de
extino como matria-prima e, para piorar, usa tambm a
mo-de-obra barata de populaes tradicionais. Talvez agora
com a Lei da Mata Atlntica em vigor, que probe o manejo
seletivo, esse problema comece a fazer parte do passado.
A carcinicultura predatria, que a criao de camaro
em manguezais e restingas, vem substituindo o ecossistema
natural e limitando a atuao da populao tradicional, por
exemplo, que vive da catao de caranguejos. A maioria desses
empreendimentos, em grande escala, substitui essas grandes
reas de manguezais e restingas fazendo com que esses ecos-
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
Z
I
G
K
O
C
H
154
MATA ATLNTICA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Prateleiras, Parque Nacional do Itatiaia (RJ) (acima); Parque Nacional do Iguau (PR) (abaixo).
Vista area das cataratas do Iguau (PR) (pgina ao lado).
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
Z
I
G
K
O
C
H
155
MATA ATLNTICA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Ricardo ZIG KOCH Cavalcanti fotografa a natureza desde 1985. Suas fotografas esto presentes nas principais
revistas brasileiras, em dezenas de livros e exposies, calendrios e peas publicitrias. Participa de vrias entidades
que lutam para a conservao do meio ambiente.
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
Z
I
G
K
O
C
H
156
MATA ATLNTICA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Serra do mar (PR) (acima); Guaraqueaba (PR) (abaixo).
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
Z
I
G
K
O
C
H
157
MATA ATLNTICA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Rio Me Catira, Morretes (PR) (acima); lrios no Rio Me Catira, Morretes (PR) (abaixo, esq.);
Morro Me Catira visto de Morretes (PR) (abaixo, dir.).
M
A
T
A
A
T
L
N
T
I
C
A
158 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
Prosa & Verso
Compro dois metro de pano
Vou mand faz um picu
Pra lev medicamento
Que eu vou no mato tir:
Pico gentil e mentraste
Quina coalha e sassusi
Alecrim rosa e arruda
Camomila e pacov.
Sucupira e cura-tombo
Casca de jacarand
Ch-minero e japecanga
Namoscada e carapi
Fedegoso e quebra-pedra
Xarope de cambar
Casca de canela-preta
E p de vidro crist.
Quando estiv algum doente
Que viere me busc
Eu monto no meu cavalo
Num instante eu estou l.
Se f moa sortera
dou remdio pra sar
Se f pra mui casada
D remdio pra ingan.
(Chico Fabiano, violeiro do Vale do Paraba, morreu
atropelado na estrada Jacari/Santa Branca nos anos
1970, octogenrio)
GUA
J em 1500 a riqueza de gua da Mata Atlntica
foi objeto de observao. Pero Vaz de Caminha, em
sua carta ao Rei D. Manuel, escrevia: A terra em si
de mui bons ares...As guas so muitas, infndas; em
tal maneira graciosa, que, querendo-a aproveitar,
dar-se- nela tudo por bem das guas que tem.
Atualmente, mais de 100 milhes de brasileiros se
benefciam das guas que nascem na Mata Atlntica
e que formam diversos rios que abastecem as cidades
e metrpoles brasileiras. Alm disso, existem milhares
de nascentes e pequenos cursos dgua que aforam no
interior de seus remanescentes.
Um estudo do WWF (2003) constatou que mais
de 30% das 105 maiores cidades do mundo dependem
de unidades de conservao para seu abastecimento
de gua. Seis capitais brasileiras foram analisadas no
estudo, sendo cinco na Mata Atlntica: Rio de Janeiro,
So Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza. A
tendncia mundial se confrmou no Brasil pois, com
exceo de Fortaleza, todas as cidades brasileiras
pesquisadas dependem em maior ou menor grau de
reas protegidas para o abastecimento.
A Mata Atlntica abriga uma intrincada rede de
bacias hidrogrfcas formadas por grandes rios como
o Paran, o Tiet, o So Francisco, o Doce, o Paraba do
Sul, o Paranapanema e o Ribeira de Iguape. Essa rede
importantssima no s para o abastecimento humano
mas tambm para o desenvolvimento de atividades
econmicas, como a agricultura, a pecuria, a indstria
e todo o processo de urbanizao do Pas.
As recomendaes, apontadas pelo estudo do
WWF, principalmente para as cidades da Mata Atln-
tica, so a criao de reas protegidas em torno de re-
servatrios e mananciais e o manejo de mananciais que
esto fora das reas protegidas. Embora a legislao
restrinja a ocupao ao redor de reas de mananciais,
em So Paulo, por exemplo, h milhares de pessoas
habitando a beira de reservatrios como as represas
Billings e Guarapiranga.
M
A
T
A
A
T
L
N
T
I
C
A
159 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
QUEM FAZ A HISTRIA
ARQUITETO DAS UNIDADES DE CONSERVAO NO BRASIL
Paulo Nogueira-Neto foi o primeiro Secretrio do Meio Ambiente do Brasil e exerceu o
cargo por mais de doze anos, de 1974 a 1986, em plena ditadura militar. Neste perodo, trouxe
para a esfera governamental discusses como poluio e desmatamento, conceitos ignorados
at ento. Enfrentou o descaso, a m-vontade e a falta de recursos do governo. E foi o criador das
reas de Proteo Ambiental, das Estaes Ecolgicas e o arquiteto das leis de Poltica Nacional
do Meio Ambiente e Impactos Ambientais. Estudioso do comportamento das abelhas, trocou a advocacia pela histria
natural e tornou-se acadmico e ambientalista, acumulando ttulos e cargos, como membro vitalcio do Conama.
Sua primeira luta ambiental foi em 1956, para defender a Mata Atlntica no Pontal do Paranapanema, a mesma rea
que hoje disputada por fazendeiros e sem-terras. Na ocasio, eram 150 mil hectares de forestas contnuas ameaadas por
fazendeiros que invadiram a rea, mesmo com a criao de uma Reserva Florestal. Para defender a regio, ele e um grupo
de amigos criaram uma das primeiras entidades ambientalistas do Pas, a Associao em Defesa da Fauna e da Flora, que
existe at hoje. Embora boa parte do Pontal tenha sido devastado, o movimento conseguiu preservar o Morro do Diabo, na
mesma regio. Atualmente presidente da Fundao Florestal do Estado de So Paulo, alm de estar nos quadros de vrias
das mais conceituadas ONGs ambientalistas do Pas, como a SOS Mata Atlntica, onde vice-presidente, e a WWF-Brasil,
onde primeiro vice-presidente. Entre os vrios prmios que recebeu, esto o Prmio Paul Getty, em 1981, lurea mundial
no campo da Conservao da Natureza, e Prmio Duke of Edinburgh 1997, da WWF Internacional.
sistemas associados Mata Atlntica, estejam simplesmente
desaparecendo (ver Zona Costeira, pg. 195).
Por fm, ainda falando de impactos, no se pode deixar
de mencionar que a Mata Atlntica ainda no est livre do
trfco de seus animais, que continua sendo um problema
de difcil controle (ver Fauna, pg. 243).
Por que recuperar a Mata Atlntica?
Essa grande diversidade de espcies de animais e plan-
tas depende do que restou de vegetao natural da Mata
Atlntica para sobreviver. Atualmente apenas cerca de 3% da
rea do Bioma esto protegidos em unidades de conservao
de proteo integral. Esse baixo percentual de unidades de
conservao no Bioma hoje uma das principais lacunas
para a conservao da Mata Atlntica, no longo prazo. con-
senso mundial que as unidades de conservao representam
a forma mais efetiva de conservar a biodiversidade e isso
indica a importncia de um esforo imediato para proteger
todas as principais reas bem conservadas de remanescentes
do Bioma. Demonstra tambm a necessidade de adoo de
medidas para promover a recuperao de reas degradadas,
principalmente para interligar os fragmentos e permitir o
fuxo gnico de fauna e fora.
Ainda em relao s unidades de conservao parques,
reservas etc. , preciso diversifcar as possibilidades de
conservao fora dessas reas protegidas. Como o valor da
terra na Mata Atlntica muito alto, necessrio promover
parcerias com agricultores e empresas, que so os maiores
donos de terra no Bioma e fomentar a criao de novas
Reservas Particulares do Patrimnio Natural (RPPNs) (ver
Proteo em Terras Privadas, pg. 152). Atividades como
o turismo e o manejo de produtos forestais no madeireiros
so importantes opes para a conservao e o uso sustentvel
da foresta fora das UCs. necessrio tambm intensifcar
aes de criao e expanso de corredores ecolgicos.
Por mais que a populao esteja mais informada sobre a
existncia do Bioma, sua biodiversidade e beleza cnica, ainda
falta clareza sobre sua importncia para a sobrevivncia das
cidades. As pessoas precisam saber (e acreditar piamente!) que
regies metropolitanas como So Paulo, Rio de Janeiro, Sal-
vador ou Campinas dependem da Mata Atlntica para beber
gua e para garantir chuvas na quantidade e distribuio
C
L
A
U
D
I
O
T
A
V
A
R
E
S
/
I
S
A
M
A
T
A
A
T
L
N
T
I
C
A
160 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
PELOTAS, UM RIO A SER PRESERVADO
Quando recordo o passado, nos tempos de minha infncia
Lembro do Rio Pelotas, que fcou-me na distncia
Vai Rio Pelotas sem parar, correndo vai
Caminhando dia e noite, vai formar o Rio Uruguai...
Estas so rimas de uma cano popular que faz
parte das tradies do povo que convive com o Pelotas,
rio que fca na divisa dos estados de Santa Catarina e
Rio Grande do Sul e que o principal afuente do Rio
Uruguai, formando uma das maiores bacias hidrogr-
fcas do Sul do Brasil. Essas guas passam ainda pela
Argentina e pelo Uruguai e mais tarde se juntam ao Rio
Paran para formar o grande Rio da Prata.
um rio que historicamente esteve presente na
vida das pessoas. Foi lugar de passagem dos antigos
tropeiros, que nele tinham que atravessar suas mulas.
Alis, foi dessa maneira que ele ganhou seu nome. Os
tropeiros atravessavam a mula-guia amarrada numa
espcie de botezinho, feito com couro de boi, ao qual
davam o nome de pelota. Nessa pelota iam dois
remadores. Da para virar nome de rio foi um pulo. O
Passo de Santa Vitria, na foz do Rio dos Touros, era
o local de travessia dos tropeiros e foi tambm palco
de um evento importante da Revoluo Farroupilha,
foi l que aconteceu o combate de Santa Vitria, em
1839, com a presena de Anita Garibaldi lutando para
derrubar as foras do imprio.
Mas o Pelotas no s histria. tambm um ver-
dadeiro paraso para ambientalistas e aventureiros. Suas
guas foram cavalgadas pela primeira vez numa expedio
de rafting em setembro de 2006. Nesta expedio, foi
possvel constatar a enorme riqueza que ser perdida, caso
seja construda a Usina Hidreltrica de Paiquer, a quarta
M
I
R
I
A
M
P
R
O
C
H
N
O
W
Se a hidreltrica for construda, importantes remanescentes da foresta com araucrias podem desaparecer.
C AR TO P OS TAL AME A ADO
M
A
T
A
A
T
L
N
T
I
C
A
161 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
usina em seqncia no mesmo rio. J foram construdas:
It, Machadinho e Barra Grande.
Depois do enchimento do lago da Usina Hidre-
ltrica de Barra Grande, que inundou praticamente
as ltimas reas ciliares primrias de floresta com
araucrias, so nestas margens do Pelotas que agora
sobrevivem as ltimas reas de transio das forestas
ombrfla mista e estacional e tambm de campos
naturais da regio. Isso confere ao local um alto ndice
de biodiversidade. Estas formaes so atualmente as
mais ameaadas do bioma Mata Atlntica.
Nas suas matas, existem rvores bem conhecidas,
como a araucria, o cedro e algumas canelas, mas tambm
outras de nomes esquisitos e peculiares, como o miguel-
pintado, a carne-de-vaca, o pau-toucinho e o rabo-de-
mico. Nas matas ciliares, surgem majestosas as araucrias
que se destacam em meio aos aoita-cavalos e branqui-
nhos que, no inverno, perdem suas folhas e imprimem
uma viso deslumbrante paisagem. O coqueiro jeriv
e o pinheiro bravo tambm aparecem como bordaduras
no meio da mata e ainda, para enfeitar as cachoeiras dos
afuentes, surgem os butis-da-serra.
Um fato impressionante a regenerao da fo-
resta com araucrias, provavelmente um trabalho feito
pelas gralhas e cotias que vivem na regio. Mas no s
de cotias e gralhas que vive o rio. Os que se aventuram
nas guas podem ter contatos inesperados com lontras,
capivaras, veados e vrias espcies de pssaros, sem
falar nas inmeras estrias sobre os pumas da regio,
contadas pela populao.
Inesperadas tambm so as surpresas encontradas
nos afuentes que surgem nas curvas do Pelotas, que
com suas guas lmpidas muitas vezes despencam em
cachoeiras belssimas de se contemplar. Com seu leito
rochoso, o rio oferece aos visitantes guas volumosas e
transparentes e, em vrios trechos, paredes de pedra e
serras. sem dvida um grande corredor ecolgico, que
pode ser apreciado tanto nos seus remansos, quanto
em suas corredeiras.
Falando em corredeiras e paisagens, no se pode
deixar de enfatizar que o Pelotas um rio que tem
ainda muitas oportunidades a oferecer, no somente
por seu passado e sua histria, mas por seu presente e
futuro. Ao ser cavalgado pela primeira vez por um bote
de rafting, foi comparado pelo comandante ao famoso
Rio Zambezi, paraso do rafting na frica.
E para os que pensam que acabou, tem ainda uma
surpresa fnal. Ao sarem do Rio, encontraro a acolhida
amistosa da populao, podero se aquecer e saborear
uma sapecada de pinhes no fogo de cho, comer um
jantar tpico, quem sabe dar de cara com um pouco de
neve e, com sorte, apreciar um belo pr-do-sol. Esse
talvez um dos mais belos do mundo, quando o sol, ao
bailar das curicacas, tenta de esconder por detrs das
magnfcas copas das araucrias.
Um rio que tem essa histria, que faz nascer a
cultura, que guarda um ambiente natural de alta
qualidade, verdadeiro e nico refgio de vida silvestre
ainda preservado naquela regio e que tem um alto
potencial turstico, importante para o desenvolvimento
sustentvel, deve ser protegido e preservado para as
presentes e futuras geraes.
SAIBA MAIS Dossi Barra Grande (www.apremavi.
org.br).
O
T
T
O
H
A
S
S
L
E
R
Rio Pelotas.
M
A
T
A
A
T
L
N
T
I
C
A
162 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
COMO POSSO AJUDAR
A recuperao das matas ciliares, garantidas pela legislao federal, uma das maiores chances de formar corredores
que garantam a sobrevivncia da Mata Atlntica, principalmente onde j no h remanescentes. Investir nas matas ciliares
um timo comeo, pois uma rea fcil de identifcar e assim mobilizar a populao. Qualquer leigo consegue ver, passando
de carro em uma estrada, viajando de avio ou at dentro das cidades, se existe ou no uma faixa de vegetao ao lado
de rios e crregos. No precisa saber o tamanho da propriedade ou se uma terra pblica ou privada: se tem rio, lago,
represa, precisa ter mata ciliar. Todos podem ser fscais, todos podem participar de campanhas de recuperao. Existem
at iniciativas nesse sentido, como o Clickarvore (www.clickarvore.com.br) e o Florestas do Futuro (www.forestasdofu-
turo.org.br), iniciativas da Fundao SOS Mata Atlntica, e o Programa de Planejamento de Propriedades e Paisagens da
Apremavi (www.apremavi.org.br/planejando-propriedades-e-paisagens). Mas ainda so em uma escala muitssimo
aqum da necessidade. A Mata Atlntica precisaria de uma mobilizao popular, no mnimo, do mesmo porte do que
ocorreu com o racionamento de energia, no ano 2000.
certas, e um pouco de conforto climtico. Precisam ter a
convico de que preservar o cinturo verde e os mananciais
dessas regies mais importante para suas vidas do que
melhorar a fuidez do trnsito, por exemplo.
Outra questo importante refere-se ao foco econmico
do Pas, que parece estar voltando todas as atenes para
a agricultura. Com a agropecuria salvando a ptria com
exportaes recordes, a ameaa de novos desmatamentos
constante. Mesmo que a fronteira agrcola visvel seja o Cerrado
e a Amaznia, a Mata Atlntica ainda uma das regies mais
produtivas do Pas. E mesmo estando nos estados com maior
infra-estrutura e com governos mais estruturados, boa parte
dessa produtividade ainda conseguida margem da lei: se as
propriedades rurais da Mata Atlntica respeitassem os 20% de
Reserva Legal e as reas de Preservao Permanente, teramos
muito mais do que os remanescentes atuais.
A certifcao forestal uma alternativa para valo-
rizao do manejo. O Conselho para o Manejo Florestal
(FSC), atravs da ONG Imafora, certifcou em maro de
2003 o primeiro produto da Mata Atlntica: a erva-mate,
de um produtor do Rio Grande do Sul. Uma boa gesto
da Mata Atlntica traria conseqncias tambm para os
servios ambientais prestados por seus ecossistemas, como
a produo de gua, proteo do solo, controle climtico e
absoro de carbono, alm de ser um grande manancial
para o desenvolvimento do turismo.
Os moradores
Grande parte da populao brasileira vive na Mata Atln-
tica, pois foi na faixa de abrangncia original desse Bioma
que se formaram os primeiros aglomerados urbanos, os plos
industriais e as principais metrpoles. So aproximadamente
120 milhes de pessoas (70% do total) que moram, traba-
lham e se divertem em lugares antes totalmente cobertos
com a vegetao da Mata Atlntica. Embora a relao no
seja mais to evidente, pela falta de contato com a foresta no
dia-a-dia, essas pessoas ainda dependem dos remanescentes
forestais para preservao dos mananciais e das nascentes
que os abastecem de gua, e para a regulao do clima
regional, entre muitas outras coisas.
A Mata Atlntica tambm abriga grande diversidade cul-
tural, constituda por povos indgenas, como os Guarani, e cul-
turas tradicionais no-indgenas como o caiara, o quilombola,
o roceiro e o caboclo ribeirinho. Apesar do grande patrimnio
cultural, o processo de desenvolvimento desenfreado fez com
que essas populaes fcassem de certa forma marginalizadas
e muitas vezes fossem expulsas de seus territrios originais
(ver Populaes Tradicionais, pg. 223; Povos Indge-
nas, pg. 226; Quilombolas, pg. 234).
SAIBA MAIS Rede Mata Atlntica (www.rma.org.
br); Campanili, Maura e Prochnow, Miriam. Mata
Atlntica Uma Rede pela Floresta. RMA, 2006.
P
A
M
P
A
163 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
PAMPA
KATHIA VASCONCELLOS MONTEIRO* E NELY BLAUTH**
Por onde o olhar se esparrama pelo horizonte, l est o Pampa. Um imenso mar verde
que tem suas beiradas no Rio da Prata e seu fm, se que o tem, na Patagnia,
bem mais ao sul. Ao se depararem com seu gigantismo solitrio onde no dizer do poeta
Echeverria 'nenhum apoio encontra a vista no seu desejo de fxar seu vo fugaz',
os argentinos chamam-no de deserto. (Voltaire Schelling)
*Vice-presidente do Ncleo Amigos da Terra/Brasil
**Assessora tcnica do Ncleo Amigos da Terra/Brasil
O Pampa ocupa extensas reas na Argentina, Uruguai e
Brasil, aproximadamente 700 mil km
2
. Em nosso Pas, est
presente no Rio Grande do Sul, nas regies sul e sudoeste
do Estado, ocupando cerca de dois teros do territrio, algo
em torno de 176 mil km
2
.
A paisagem do Pampa bastante conhecida: extensas
reas onde a imensido das plancies cobertas de gramneas
e varridas pelo vento serviram de cenrios para inmeros
flmes, novelas e mini-sries. O flme Intrusa, de Carlos
Hugo Christensen, ganhador de quatro Kikitos no 8 Festival
de Cinema de Gramado, mostrou como vivia o gacho no
Pampa no sculo XVIII. As mini-sries O Tempo e o Vento e
A Casa Das Sete Mulheres, da Rede Globo, mesmo sendo
obras de fco, mostraram um pouco da histria do Pampa
e muito de sua paisagem.
Presena marcante no cenrio pampeano, no se pode
deixar de mencionar o vento. Fator vital na confgurao
da paisagem, o vento minuano, companheiro nos dias de
inverno, moldou no s a paisagem como tambm o tem-
peramento do homem, infuenciando seus hbitos.
Essa paisagem buclica do Pampa est no imagi-
nrio popular, no entanto, ela abriga inmeras outras
P
A
U
L
O
B
A
C
K
E
S
Campo nativo na fronteira entre Brasil e Uruguai. Acegu (RS), 2006.
P
A
M
P
A
164 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
O QUE O PAMPA?
Termo de origem quchua, que designa as
extensas plancies cobertas de vegetao rasteira,
caractersticas do sul do Brasil e das Repblicas
Platinas. Essas plancies, que oferecem boas
forrageiras, so por excelncia zonas de criao
de gado. Plancies semelhantes se encontram no
Canad e nos Estados Unidos (as pradarias) e na
Hungria (chamadas de Puszta).
paisagens e ecos sistemas, alm das plancies cobertas
por campos nativos.
Parque de espinilho
No sudoeste do Rio Grande do Sul, e somente nessa
regio do Brasil, encontra-se uma vegetao espinhosa e
seca identifcada como parque de espinilho. Dizia Pe. Balduno
Rambo em A fsionomia do Rio Grande do Sul: O aspecto do
parque espinilho, em que domina o algarrobo, to estranho
que custa consider-lo como legtima formao brasileira...; e
ainda ...ftogeografcamente, o parque espinilho do extremo
sudoeste representa uma invaso das formaes de parques
das provncias argentinas de Corrientes e Entre Rios, onde se
lhes associa, como terceiro elemento o coco jata.
No municpio de Barra do Quarai, encontra-se o ltimo
remanescente signifcativo desse tipo de vegetao, sendo
reconhecido como Parque Estadual do Espinilho,
pelo Decreto n 41.440, de 28 de fevereiro
de 2002, com rea de 1.617,14
hecta res. Duas espcies arbus tivas
determinam o aspecto curioso
deste parque espinhoso e seco: o
algar robo (Prosopis algarobilla) e o
nhanduva (Accia farne siana).
Banhados
Ao contrrio do aspecto seco do parque de
espinilho, os banhados so presena comum
na paisagem pampeana. No sul do Estado,
o banhado do Taim, protegido por estao
PAMPA NO BRASIL
PAMPA (BIOMA)
P
A
M
P
A
165 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
A VEGETAO E A FAUNA
O projeto Radam Brasil classifcou a vegetao
do Pampa como estepe, tambm chamada de
campos sulinos por alguns autores. Tais desig-
naes soam estranhas para os gachos, que
reconhecem a regio como Pampa, pampa gacho
ou campanha.
O Pampa constitudo basicamente por
campos nativos, mata ciliar e capes de mato
(poro de mato isolado que surge no campo). So
extensas plancies, cuja altitude no ultrapassa os
200 metros, com suaves ondulaes chamadas de
coxilhas. Suas pequenas matas so constitudas de
rvores de pequeno porte, como a aroeira (Lithraea
brasiliensis) e o salgueiro (Salix humboldtiana),
tambm chamado de choro pela sua inconfun-
dvel fsionomia.
Em razo do valor econmico da regio, em
1906, Lindmann, em A Vegetao no Rio Grande
do Sul, j classifcava os campos como paleceos,
subarbustivos e gramados. Outro pesquisador,
vila de Arajo, citado por Lindmann, usou a
nomenclatura comum aos fazendeiros para clas-
sifc-los: campos fnos, por apresentarem uma
cobertura vegetal pouco elevada e pastagens
de boa qualidade, e campos grossos, por serem
dominados por gramneas altas e duras.
Vrias espcies animais habitam o Pampa,
sendo o quero-quero (Vanellus chilensis) e o
joo-de-barro (Furnarius rufus) fguras tpicas da
paisagem. comum ver no horizonte revoadas de
marrecos e marreces de vrias espcies e emas
(Rhea americana).
Outros animais podem ser vistos com algu-
ma freqncia e h registro de vrias espcies
ameaadas de extino, como tatus (Tolypeutes
tricinctus), tamandus (Tamadu tetradactyl),
lobos-guar (Chrysocyon brachyuruse), graxains-
do-campo (Pseudalopex gymnocercus) e zorrilhos
(Conepatus chinga).
F
O
T
O
S
:
P
A
U
L
O
B
A
C
K
E
S
Tico-tico-rei em Santa Cruz do Sul (RS); bando de emas
em campos nativos de Santana do Livramento (RS) e
Tah pousando em banhado. Acegu (RS), fronteira do
Brasil com o Uruguai.
P
A
M
P
A
166 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
Prosa & Verso
... A planura do cho, o tapete sem falha
das gramas, a cor verde-palecea de quadro
como que derrama o esprito de encontro
ao horizonte descomedido, no qual se apia
o frmamento. As nuvens de bom tempo,
velejando debaixo de um azul lavado,
completam este painel de tintas plidas,
formando um panorama de conjunto to
extenso, to suave nas transies, to forte
na sua expresso, que sempre de novo ocorre
a comparao com o oceano. A campanha
um oceano, no de gua, mas de grama.
(Padre Balduno Rambo, em
A Fisionomia do Rio Grande do Sul)
ecolgica do mesmo nome, o mais conhecido. Nos
municpios de Itaqui e Maambar, na fronteira com a
Argentina, ocorre o banhado de So Donato, reconhecido
como reserva ecolgica na dcada de 1970 e at hoje ainda
no efetivado. Estudo realizado pela Secretaria Estadual de
Meio Ambiente indicou a ampliao da rea para 17.000
hectares visando abranger outros ecossistemas. Sua rea
atual, de 4.392 hectares, est praticamente cercada pela
agricultura, principalmente de arroz.
A grande maioria dos banhados foi drenada para uso
agrcola, atravs do Programa Pr-Vrzea do governo federal
na dcada de 1970. Informaes no ofciais dizem que os
poucos banhados que restam foram protegidos para viabili-
zar a caa, uma vez que esta prtica era legalizada no RS.
Cerros e serras
Com predominncia no sudoeste, mas presente em
todo o Pampa, encontram-se cerros e serras. Surgem como
do nada: pequenos e baixos morros aparecem em uma
rea quase totalmente plana, sem pedras evidentes, sem
forestas, sem cavidades.
PAIXO CORTES E OS CTGs
No fnal da dcada de 1940, um grupo de jovens, liderados por Joo Carlos
D'Avila Paixo Cortes, tomou a iniciativa de trazer para a cidade os hbitos do
homem do campo: o chimarro, a bombacha, o linguajar, a msica e a poesia.
Durante muito tempo a pessoa que cultivava essas tradies era chamada de
grossa e era tratada com certo desdm pela populao das cidades.
Graas a determinao de Paixo Cortes e seus companheiros, resgatou-se o orgulho de ser homem do campo e
de cultivar os hbitos gachos. A msica e a literatura campeira passaram a ser valorizadas. Em 1947, Paixo Cortes
e seus amigos criaram o Departamento de Tradies Gachas, junto ao grmio estudantil da Escola Jlio de Castilhos,
em Porto Alegre. Desde ento, nasceram inmeros centros de tradies gachas, os conhecidos CTGs. No h estado
brasileiro que no tenha seu CTG; eles esto presentes em diversos pases, inclusive nos Estados Unidos.
Na entrada de Porto Alegre, est instalada a Esttua do Laador, smbolo ofcial da capital do Estado e uma
homenagem ao gacho do campo. Esta esttua foi moldada em bronze pelo escultor Antnio Caringi e teve como
modelo o tradicionalista Paixo Cortes. Foi inaugurada no dia 20 de setembro de 1958 e tem 4,45 metros de altura,
pesa 3,8 toneladas e est sobre um pedestal de granito de 2,10 metros.
Paixo Cortes e alguns de seus companheiros do colgio Julinho ainda vivem e continuam a fazer a histria
do Rio Grande do Sul.
QUEM FAZ A HISTRIA
A
R
Q
U
I
V
O
P
E
S
S
O
A
L
P
A
M
P
A
167 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
UM P DE QU ?
UMBU
O Umbu, imbu ou ambu praticamente da famlia
no Rio Grande do Sul, tanto que o que no falta para ele
nome popular: cebolo, ceboleiro, rvore-queijo, maria-
mole. Esses apelidos, que parecem at meio pejorativos,
tm a ver com a sua principal caracterstica: a madeira
fraquinha, esponjosa, que no serve para nada.
Um esprito mais madeireiro pode dizer: uma
rvore intil! Mas ao contrrio. Essa foi a rvore mais
til na histria do Rio Grande do Sul. justamente essa
madeira esponjosa e imprestvel que faz o tronco do
umbu ocar por dentro. Todo animal silvestre da regio
sabe e todo gacho tambm que em qualquer
emergncia, s correr para dentro do umbu. Essa
madeira intil tambm faz com que ele possa crescer
muito, fcar frondoso e proporcionar muita sombra.
O umbu cresce muito rpido, chega a mais de 25
metros de altura e outros tantos de largura. O fruto do
umbu atrai os animais. O mesmo no se pode dizer para
o homem. Contam que o fruto e a folha do umbu tm
um alto poder laxativo, quer dizer: faz correr, como
dizem os gachos.
O Rio Grande do Sul um estado que nasceu no
campo, nas invernadas, com tropeiros levando gado daqui
para l. Pensa bem: tem coisa mais til para um tropeiro
do que essa sombra, essa proteo? Pode-se dizer que esse
Estado nasceu em torno do umbu. De l para c, muito
gacho parou embaixo dele para descansar na
sombra, se proteger e, principalmente,
para contar histrias.
O gado e o tropeiro surgiram
em 1634 com a fgura do pa-
dre Cristvo de Mendonza
Orelhano. Ele tropeou
mais de 1.500 animais
da Argentina at o Rio
Grande do Sul para
alimentar os ndios
das misses. O Rio
Grande do Sul era geografcamente perfeito para a
criao desses animais. Barbosa Lessa, escritor tradi-
cionalista gacho, costumava chamar o Rio Grande do
Sul de imenso curral formado pela natureza. Logo os
ndios se adaptaram aos rodeios, s charqueadas e se
tornaram timos cavaleiros. J os jesutas, aprenderam
com os ndios as peculiaridades da fora local. Aprende-
ram, por exemplo, a apreciar a sombra do umbu.
Com a presena do tropeiro, o trfico de animais
comeou a crescer e virou a sustentao econmica desse
Estado. Por isso a sombra do umbu virou ponto de refern-
cia. O gado parava automaticamente e os tropeiros fcavam
aconchegados ali embaixo. Acendiam o fogo, comiam um
churrasco, bebiam o chimarro e comeavam a prosear.
Em pouco mais de dois sculos aconteceram no
Rio Grande do Sul a Guerra das Misses, a Revoluo
Farroupilha, a Guerra do Paraguai, a Revoluo Federa-
lista, Revoluo de 1893, Revoluo de 1923, a Revolta
de 32. Em todas as guerras, era dentro do umbu que as
famlias se escondiam.
A raiz do umbu no serve s para proteger a
famlia, tambm um timo esconderijo para um
tesouro. Com tantos conflitos e confuses, muitos
gachos esconderam ouro no oco do umbu. Muitos
deles morreram sem ter tempo de resgatar o que tinha
escondido. por isso que at hoje contam que a me do
ouro vem caminhando pelos campos e pra no umbu
para avisar que ali tem tesouro escondido.
Uma rvore pode mover a economia de um
estado. Com seus frutos ou sua madeira, ela pode
gerar recursos e alimentar o povo de
uma regio. O umbu no d nada disso.
Mas alimenta a cultura de um povo:
oferecendo sombra e assunto, ele
no deixa que as histrias morram.
SAIBA MAIS Pindorama Fil-
mes (www.pindoramaflmes.
com.br; www.futura.org.br).
I
L
U
S
T
R
A
O
R
U
B
E
N
S
M
A
T
U
C
K
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
P
A
U
L
O
B
A
C
K
E
S
168
PAMPA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
A paisagem do Pampa marca uma integrao entre os elementos naturais e a ao transformadora de 10 mil anos de
histria humana na regio. Os protagonistas selvagens esto ali, quase sempre presentes: o horizonte e cu sem fm,
que as vezes pesa e melancoliza; as coxilhas e canhadas com campo nativo; os aforamentos de rocha, matria-prima
das taipas, e tudo issso, serpenteado por arroios e sangas rodeados de bosques que abrigam a fauna. Em poucos luga-
res do Planeta ainda subsiste essa convivncia entre o selvagem e o humano na macropaisagem de um bioma.
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
P
A
U
L
O
B
A
C
K
E
S
169
PAMPA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Masoller, Departamento de Rivera, Uruguai (ao lado); Pampa de Achala. Serras de Crdoba, Argentina (acima);
Estncia do Segredo. APA do Rio Ibirapuit em Santana do Livramento. Brasil (abaixo).
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
P
A
U
L
O
B
A
C
K
E
S
170
PAMPA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
PAULO BACKES (1962, Santa Cruz do Sul, RS) Fotgrafo, paisagista, formado em Agronomia e ps-graduado em Botnica
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, administra um arquivo com mais de 20.000 imagens sobre as paisagens
naturais e culturais do Cone Sul. Cria e participa de projetos editoriais, dos quais destacam-se o Atlas Ambiental de Porto
Alegre, rvores do Sul, Mata Atlntica As rvores e a Paisagem e Lutzenberger e a Paisagem.
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
P
A
U
L
O
B
A
C
K
E
S
171
PAMPA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Pgina ao lado: Estncia do Segredo. APA do Rio Ibirapuit em Santana do Livramento. Brasil (acima); Estncia do Campo
Limpo. APA do Rio Ibirapuit em Santana do Livramento (abaixo). Nesta pgina: Departamento de Melo, Uruguai (alto);
Acegua, Departamento de Rivera, Uruguai (embaixo).
P
A
M
P
A
172 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
CULINRIA GACHA
O churrasco, originrio do Pampa, surgiu no
sculo XVII, quando esta parte do RS era ocupada
por milhares de cabeas de gado selvagem, oriun-
dos de diversas partes da Argentina, e que eram
abatidos para obteno de sebo e couro. Aps as
vacarias matanas de gado os vaqueiros
cortavam um pedao de carne e assavam inteiro
em um buraco aberto no solo, temperado com a
prpria cinza do braseiro.
A carne bovina foi durante muito tempo a
base da alimentao do gacho, sendo que o
chimarro era utilizado tambm como forma de
auxlio digesto. O chimarro era bebida usada
pelos ndios de origem guarani.
Os tropeiros passavam dias viajando, levando
mercadorias de um lugar para outro, portanto
levavam junto seus alimentos, que seriam pre-
parados em seus locais de descanso. O arroz de
carreteiro e sua verso mais atual, arroz de galpo,
so pratos tradicionais da regio do Pampa.
Arroz de galpo
750g de arroz
250g de charque picado
250g de lingia em rodelas
200g de toucinho picado
2 cebolas mdias picadas
4 dentes de alho
M
Lave o charque, afervente e troque a gua;
M
Frite o toucinho e a lingia e junte o charque;
M
Acrescente o alho e a cebola e frite por mais
3 minutos;
M
Junte o arroz e coloque gua fervendo na
altura de 2 cm acima do arroz;
M
Cozinhe em fogo baixo;
M
Quando a gua desaparecer do arroz, des-
ligue o fogo e deixe a panela tampada por 5
minutos.
MSICA DOS PAMPAS
GUSTAVO PACHECO
O amplo intercmbio com a Argentina e o
Uruguai que caracteriza a cultura dos pampas se
refete tambm em sua msica, na qual gneros
como o chamam, vindo da regio de Corrientes
(Argentina), convivem e dialogam com gneros
herdados da colonizao portuguesa e aoriana,
como o fandango e a chimarrita. Talvez a melhor
expresso desse convvio seja a milonga, gnero
potico-musical encontrado nos trs pases e
que est na base da cano popular gacha. Em
toda a msica da regio, a gaita (termo regional
para o acordeom) tem papel de destaque, sendo
o principal solista. Vale destacar tambm que
a vitalidade da msica dos pampas deve muito
aos movimentos tradicionalista e nativista, res-
ponsveis pela realizao de festivais de msica,
programas de rdio e uma expressiva produo
discogrfca local (ver A identidade brasileira
atravs da msica, pg. 68).
o caso da Serra do Jarau, no municpio de Livramento.
Ela ergue-se do nada e mesmo de longe possvel visualizar
o arenito metamrfco conglutinado. Diz uma lenda que nela
habita uma princesa moura que enfeitia todos os que se
atrevem a percorr-la. O longa metragem Cerro do Jarau ,de
Beto Souza, tem como cenrio essa serra que fca prxima
fronteira do Brasil e Uruguai.
Ameaas
O Pampa est localizado na tambm chamada metade
sul do Rio Grande do Sul, sendo considerada a regio mais
pobre do Estado, apesar dos grandes latifndios. Para
minimizar o problema socioeconmico, os governantes
vm h vrios anos criando programas que visam levar o
progresso para a regio.
Contrariando a vocao natural da regio para a
pecuria e turismo, esses programas governamentais
pretendem desenvolver uma cultura totalmente estranha
P
A
M
P
A
173 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
MUDAN A C L I MT I C A
Na regio Sul do Brasil, onde est o Pampa, estudo do Ministrio do Meio Ambiente sobre os efeitos
da mudana climtica na biodiversidade brasileira mostra que o aumento das temperaturas causado pela
mudana climtica pode inviabilizar a produo de gros. As secas sero mais freqentes e as chuvas
podem se tornar eventos extremos de curta durao. As chuvas cada vez mais intensas poderem castigar
as cidades, com grande impacto social nos bairros mais pobres. Ventos intensos de curta durao podem
tambm afetar o litoral da regio Sul.
Outro estudo, realizado pela Embrapa Informtica Agropecuria, em conjunto com a Unicamp, em 2005,
concluiu que culturas perenes como o caf, hoje cultivado principalmente no Sudeste tendem a procurar
temperaturas mximas mais amenas, e o eixo de produo delas poder se deslocar para o sul do Pas.
SAIBA MAIS Marengo, Jos A. Mudanas Climticas Globais e seus efeitos sobre a biodiversidade. Braslia:
Ministrio do Meio Ambiente, 2006.
VEJA TAMBM Brasil (pg. 70), Mudana Climtica Global (pg. 358); O IPCC e a Mudana Climtica (pg.
360); O Brasil e a Mudana Climtica (pg. 365); Desafo do Sculo (pg. 373).
ao povo e ao ecos sistema da regio. A pecuria, atividade
tradicional, produz protena, alimento que recebe alta
cotao no mercado consumidor, alm de no causar
muitos impactos ambientais.
J est em andamento a implantao de grandes
plantaes de rvores para a regio. O impacto ambiental
das grandes monoculturas de rvores (ver Recuperao
Florestal, pg. 288) bem conhecido no Planeta. Consi-
derando que a metade sul uma grande plancie, o plantio
extensivo de rvores dever causar impactos signifcativos
no clima da regio, por alterar o regime de ventos e de
evaporao, assim como nos recursos hdricos e na cultura.
Somente a Votorantim Celulose e Papel anunciou em 2004
a aquisio de 40 mil hectares de terras em 14 municpios
para implantar uma base forestal na regio, que fornecer
matria-prima para futura fbrica de celulose. H previso
de instalao de duas novas fbricas no Pampa.
A ampliao da rea de plantio de soja e a cultura da
mamona para elaborao de biocombustvel so as mais
recentes ameaas.
H ainda a antiga e constante ameaa da minerao
e queima de carvo mineral, cujos impactos locais,
regionais e globais so bem conhecidos: acidificao da
gua; alterao da paisagem; deslocamento de popula-
es assentadas; aumento de incidncia e freqncia de
doenas pulmonares; chuva cida; e emisso de gases
de efeito estufa. Existem minas de carvo localizadas
em Candiota que devero fornecer combustvel para
termeltricas na divisa com o Uruguai.
O ambientalista Jos Lutzemberger (ver Quem faz a
histria, pg. 417) dizia que as grandes fazendas de criao
B
I
O
D
E
L
R
E
Plantaes de eucalipto nas coxilhas e campos
do Pampa. Bag, RS, 2007.
P
A
M
P
A
174 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
Historicamente, o Rio Grande do Sul, estado ao
extremo sul do Brasil, sempre foi uma regio de confitos
e de culturas diversas. Numa rea pertencente Espanha
pelo Tratado de Tordesilhas, alguns portugueses fncaram
o p em partes da localidade no intuito de tomar as terras
dos espanhis, mas esqueciam-se todos que os donos
legtimos da terra eram os ndios. Na prtica, nunca houve
diviso de fato dos territrios do pampa rio-grandense,
pampa argentino e pampa uruguaio, proporcionando uma
integrao nem sempre pacfca entre os trs povos.
Do convvio entre os imigrantes espanhis e portugueses
com os ndios surgiram muitas misturas raciais originando
o que se chamou de raa gacha (cafuzos de ndios
je-tupi-guarani com ibero-europeus) e o surgimento invo-
luntrio de uma cultura completa que era compartilhada
pelos povos. Em confito constante com os castelhanos
(argentinos e uruguaios de ascendncia espanhola) e
com os portugueses (ento colonizadores do Brasil), os
gachos continuavam ignorando os limites polticos entre
os territrios, mas criavam seu prprio isolamento cultural.
(Felipe Simes Pires)
A imagem do gacho do Pampa gravada no ima-
ginrio popular est cada vez mais longe da realidade.
Na primeira metade do sculo XX , com a mudana do
A MORADA DO GACHO
Prosa & Verso
Vento xucro
Vento xucro do meu pago
Que nos Andes te originas
Quando escuto nas Campinas
O teu brbaro assobio
Do teu guascao selvagem,
Eu te bendigo a passagem,
Velho tropeiro do frio.
(Jayme Caetano Braun)
modelo de ocupao e uso do solo, as cercas tornaram-se
mais visveis, o gado marcado e o tropeiro foi substi-
tudo pelos caminhes. Essas mudanas trouxeram o
desemprego ao campo, obrigando o xodo rural com
a ocupao da periferia das cidades pelos homens e
mulheres do campo.
As famlias com mais posses tambm migraram para
as cidades visando garantir uma vida menos dura para
seus flhos, onde o estudo era o principal objetivo.
P
A
U
L
O
B
A
C
K
E
S
Estncia So Gregrio, local onde viveu o Gen. Canabarro, personagem da revoluo farroupilha.
Santana do Livramento (RS).
P
A
M
P
A
175 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
PERSONAGEM
RICO VERSSIMO (1905-1975)
Escritor de estilo simples, contador de histrias por
excelncia, considerado uma das grandes expresses
da moderna fco brasileira, rico Verssimo retratou
como ningum as histrias dos gachos e do Rio
Grande do Sul, das coxilhas e dos pampas. Uma de
suas mais notveis obras a trilogia O Tempo e o Vento:
O Continente, O Retrato e O Arquiplago com alguns
inesquecveis personagens como Ana Terra, Bibiana e
Capito Rodrigo Cambar. Nela, mais do que o drama
de pessoas, mais do que a histria de uma famlia,
Verssimo narra a tragdia da formao de uma terra,
de uma cidade, de um pas. A trilogia abarca 200 anos
da Histria do Brasil - de 1745 a 1945.
Chamado de regionalista, Verssimo no concorda-
va com o rtulo. Em entrevista Rosa Freire D Aguiar,
para a revista Manchete, em 1973, ele afrmou: Em
certo ponto de minha atividade de fccionista, senti
que devia ao Rio Grande do Sul um romance sobre
sua gente, sua terra e sua histria. Mas confesso que
ainda me sinto atrado pela vida do homem moderno
numa grande metrpole, com todos os problemas do
nosso tempo.
Gacho de Cruz Alta, flho de famlia
tradicional, mas arruinada economica-
mente, Verssimo estudou em Porto
Alegre e voltou para sua cidade
natal onde trabalhou em banco e
depois tornou-se scio de uma
farmcia. Ali, entre remdios e
o namoro com Mafalda Halfen
Volpe, com quem se casaria em
1931 e com quem teve dois flhos,
dedicava as horas vagas leitura.
Ibsen, William Shakespeare, George Bernard Shaw,
Oscar Wilde e Machado de Assis eram seus preferidos e
infuenciaram sua formao literria.
Em 1930, transferiu-se para a capital gacha e
aceitou o cargo de secretrio do Departamento Edi-
torial da Livraria do Globo. J em 1934, conquistava,
com Msica ao Longe, o Prmio Machado de Assis, da
Cia. Editora Nacional e, no ano seguinte, seu romance
Caminhos Cruzados era premiado pela Fundao Graa
Aranha. Foi, porm, com Olhai os Lrios do Campo, em
1938, que seu nome tornou-se realmente conhecido
em todo o Pas.
Desde 1943, quando viajou pela primeira vez aos
EUA, empenhou-se em divulgar a literatura e a cul-
tura brasileira no exterior. Seu prestgio internacional
cresceu a tal ponto que, em 1953, por indicao do
Ministrio das Relaes Exteriores, assumiu a direo
do Departamento de Assuntos Culturais da Organizao
dos Estados Americanos (OEA).
Traduziu mais de 50 ttulos, do ingls, francs,
italiano e espanhol, alm de organizar vrias colees
literrias clebres, como a Nobel e a Biblioteca dos
Sculos. Seus livros foram traduzidos e publicados em
quase todo o mundo. No Brasil, recebeu, entre outros,
os prmios Jabuti (1966), Personalidade Literria
do Ano (PEN Club, 1972) e o Prmio Literrio
da Fundao Moinhos Santista (1973),
pelo conjunto da obra. Alm da festejada
trilogia, destacam-se outros livros como
O Senhor Embaixador (1965), O Prisio-
neiro (1967) e Incidente em Antares
(1971). rico morreu quando
escrevia o segundo volume
de Solo de Clarineta, seu livro
de memrias.
I
L
U
S
T
R
A
O
C
A
R
L
O
S
M
A
T
U
C
K
SOCIOAMBIENTAL UMA PALAVRA S.
P
A
M
P
A
176 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
GUARITAS
Localizadas no municpio de Caapava do Sul, con-
siderado o portal do Pampa e distante cerca de 250 km
da capital gacha, nos domnios da Serra do Sudeste,
as Guaritas possuem uma beleza nica, formada de
pequenas serras. Estas serras de no mais que 500 m de
altitude encontram-se entremeadas por vales e bacias,
onde afora o arenito em curiosas formaes de aspecto
ruiniforme, onde o visitante pode admirar o trabalho de
milhares de anos de eroso pela chuva e vento.
Os elementos marcantes da paisagem so os afo-
ramentos rochosos em forma de complexos e cerros
isolados. Segundo pesquisadores, uma das regies de
maior importncia biolgica do Rio Grande do Sul, com
vegetao peculiar no apenas no contexto regional,
mas tambm exclusiva se comparada diversidade
nacional. As Guaritas esto ameaadas pela descaracte-
rizao de sua paisagem por conta de extensos plantios
de rvores e pelo manejo incorreto do solo que amplia
o processo erosivo natural. A rea considerada prio-
ritria para conservao da biodiversidade e indicada
para criao de unidades de conservao, mas at agora
nada foi feito para preserv-la.
de gado foram responsveis pela preservao do Pampa e que
essa tradio deveria ser mantida para garantir a existncia
do bioma. A regio do Pampa constituda basicamente
de grandes fazendas de criao. Na regio de Bag, encon-
tram-se inmeros haras para criao de cavalos de raa. A
ovinocultura ainda uma tradio bastante forte, tanto pelo
uso da carne como da l. Mas a principal atividade a criao
de gado bovino. dessa regio que se originam as mais sabo-
rosas carnes do Brasil. A qualidade do campo nativo, aliada
s modernas tcnicas de manejo, garante produtividade,
manuteno da biodiversidade do campo nativo e ganhos
fnanceiros signifcativos para o produtor rural. Essa uma
das alternativas para a manuteno do Pampa.
Areizao
Em vrios municpios do sudoeste gacho (Quarai,
So Francisco de Assis e Alegrete) ocorre um processo
erosivo conhecido popularmente como desertifcao. No
entanto, trata-se de areizao, uma vez que o baixo ndice
pluviomtrico o fator determinante para os desertos, o
que no o caso dessa regio.
VEJA TAMBM Agricultura Sustentvel (pg.
414); Solo (pg. 333).
Areizao o aforamento de depsitos arenosos a
partir da remoo da cobertura vegetal. Essa eroso
provocada pelo escoamento da gua da chuva. Como a
vegetao frgil, o desgaste faz emergir areia sob o verde
e o vento faz com que ela se espalhe. As manchas de areia
expostas abrangem uma rea de 3.600 hectares e comeam
a se formar em outros 1.600 hectares. Em alguns pontos
desse areial, h crateras de at 50 metros de profundidade.
Segundo a pesquisadora da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), Dirce Suertegaray, o processo tem
gnese natural, mas extremamente acentuado pelo uso
inadequado do solo. Para a pesquisadora, h indicaes
claras que os areiais eram contemporneos ocupao
dos ndios.
J foram realizadas pesquisas na tentativa de impedir o
avano da areizao, no entanto, os resultados esto muito
aqum dos desejados.
Paisagem das Guaritas rodeada por matas.
P
A
U
L
O
B
A
C
K
E
S
C AR TO P OS TAL AME A ADO
P
A
N
T
A
N
A
L
177 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
PANTANAL
ALCIDES FARIA* E RAFAELA NICOLA**
Maior plancie alagvel do mundo, o Pantanal elo de ligao entre as duas maiores bacias da
Amrica do Sul: a do Prata e a Amaznica, o que lhe confere a funo de corredor biogeogrfco,
ou seja, permite a disperso e troca de espcies de fauna e fora entre essas bacias
O Pantanal est situado dentro dos aproximadamente
500 mil km2 da Bacia do Alto Paraguai o equivalente s
reas dos estados de So Paulo, Rio de Janeiro e Paran
somadas. Essa plancie, muitas vezes vista somente como
um bioma brasileiro, cobre uma rea de quase 210 mil km2,
dos quais 70% esto no Brasil (nos estados de Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul); 20% na Bolvia e os outros 10% no
Paraguai. Grande parte do Pantanal e da Bacia Hidrogr-
fca do Prata, que o inclui, est inserida na lista da Unesco
como Patrimnio Natural da Humanidade e tambm fgura
na Constituio Brasileira como Patrimnio Nacional.
Essa plancie tem qualidades ambientais especfcas por
ser uma ecorregioonde encontram-se o Cerrado (leste, norte
e sul); o Chaco (sudoeste); a Amaznia (norte); a Mata Atlntica
(sul) e o Bosque Seco Chiquitano (noroeste). A convergncia e
presena de distintos biomas, somadas ao varivel regime de
cheia e seca, conferem particular diversidade e variabilidade
de espcies. A taxa de endemismo relativamente baixa,
porm as caractersticas mltiplas possibilitam a interao
entre material gentico de animais e plantas de maneira muito
particular. Por ser compreendido como elo de ligao entre as
duas maiores bacias da Amrica do Sul (do Prata e Amaznica),
o Pantanal funciona como corredor biogeogrfco, promovendo
a disperso de fauna e fora. A denominao pantanais
utilizada para indicar onze sub-regies distintas, determinadas
pelo regime de inundao, drenagem, vegetao e relevo. Seria
o Pantanal o cadinho construdopara mesclar grande parte
dos biomas da Amrica do Sul?
*Diretor executivo da Ecoa
** Diretora de projetos da Ecoa
Vista area do Pantanal de Nhecolndia (MS).
A
R
A
Q
U
M
A
L
C
N
T
A
R
A
P
A
N
T
A
N
A
L
178 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
Uma das caractersticas marcantes do Pantanal seu
regime de cheias e secas, determinado pela condio de
extensa plancie e a sua relao com a parte alta da bacia
(planalto). Na plancie, a declividade , aproximadamente, de
1 a 2 centmetros por quilmetro no sentido norte-sul e 6 a 12
no sentido leste-oeste, o que faz com que a regio funcione
como uma grande esponja durante o perodo das chuvas,
recebendo as guas da parte alta, que so retidas, espalham-
se e escoam lentamente. Existe uma complexa combinao
das contribuies de diferentes regies, cujas lagoas e baas
funcionam como reguladores de vazo, acumulam gua
e amortecem a elevao do nvel durante o crescimento e
cedem gua durante a recesso. O lento escoar promove
um fenmeno interessante que cheia sem chuva ou cheia
na seca: as guas que entraram h meses na plancie nas
partes mais altas, por fm chegam em grande volume na
parte mais ao sul, provocando a crescida das guas sem que
tenha ocorrido chuvas. Um exemplo a cheia ocorrida em
agosto de 2003, em geral o ms mais seco da regio. O ciclo
de inundao do Pantanal regido pelas chuvas em toda a
Bacia do Alto Paraguai, no perodo de setembro a janeiro no
norte do Pantanal e novembro a maro na poro sul.
Durante a cheia, rios, lagoas e riachos fcam interligados
por canais e lagunas ou desaparecem no mar de guas,
permitindo o deslocamento de espcies. Esse processo um
dos principais responsveis pela constante renovao da
vida e pelo fornecimento de nutrientes. Na poca de seca,
formam-se ento lagoas e corixos isolados, os quais retm
PANTANAL NO BRASIL
PANTANAL (BIOMA)
Prosa & Verso
A msica daqui raiz. Do fundo, da fronteira,
do mundo do Pantanal. A gente lembra de
quando vivia no meio da bicharada.
E tocava misturando o som da viola com o urro
da ona, o canto da araponga e do gacho, as
cobras passando pelo p, aquela bicharada
toda em volta.
(Helena Meireles, violeira pantaneira)
P
A
N
T
A
N
A
L
179 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
grande quantidade de peixes e plantas aquticas. Lentamen-
te esses corpos d gua vo secando, o que atrai aves e outros
animais em busca de alimentos, promovendo espetacular
concentrao de fauna. Coincide, em algumas regies, com a
forada de vrias espcies, provocando cenrios de rarssima
beleza. Vale lembrar que o Pantanal uma das reas mais
importantes para as aves aquticas e espcies migratrias,
como abrigo, fonte de alimentao e reproduo.
Histria e cultura
De acordo com informaes do Kit Pantanal (ver
Saiba Mais, pg.194), no sculo XVI, quando chegaram
os primeiros colonizadores europeus, o Pantanal j era
ocupado por importantes populaes indgenas de vrias
etnias. Somente no Mato Grosso do Sul, 1,5 milhes de
indgenas habitavam a regio; pertenciam s etnias Guarani,
Guat, Ofay, Kaiap Meridional, Payagu, dentre outras.
Atualmente, os Payagu esto extintos e os Guat tm uma
populao que no ultrapassa 400 pessoas. A maioria vive
em uma rea indgena no Pantanal, porm alguns optaram
por viver nas cidades da regio ou trabalhar em fazendas
(ver Povos Indgenas, pg. 226).
Por volta do sculo XIX, alm dos colonizadores euro-
peus, desbravadores da regio Sudeste (impulsionados pela
descoberta do ouro) chegaram regio de Cuiab (Mato
Grosso), iniciando novo processo de ocupao.
Gradualmente as comunidades locais foram se transfor-
mando em povoados e, fnalmente, em cidades, conformadas
por ribeirinhos, indgenas, vaquei-
ros e fazendeiros, que passaram a
interagir mais intensamente e a
agregar valores urbanos aos seus
antigos modos de vida. No entanto,
ao longo dos rios e corpos de gua
do Pantanal, possvel avistar
populaes ribeirinhas e indgenas
que ainda preservam os costumes e
tradies de seus antepassados.
A rica miscigenao provocada
pelo processo de ocupao mais re-
cente resultou em uma cultura que
abriga caractersticas das diversas
etnias indgenas, populaes ribei-
rinhas, populaes originrias de outros estados brasileiros e
pases vizinhos (principalmente Bolvia e Paraguai). A mate-
rializao dessa cultura pantaneira pode ser exemplifcada
pela Festa de So Sebastio, amplamente festejada, que
rene crenas catlicas e candombls, churrasco e baile, no
ritmo da polca-paraguaia, rasqueado e chamam.
Hoje, a populao no Pantanal brasileiro de aproxi-
madamente 1.100.000 pessoas. Na Bolvia se estima 16.800
habitantes e, no Paraguai, 8.400 habitantes. As principais
cidades brasileiras inseridas na plancie pantaneira, dez
no total, possuem populaes que variam desde 12 mil
habiantes (em Porto Murtinho, MS), at 500 mil habitantes,
em Cuiab (MT).
Atividades econmicas
As principais atividades econmicas desenvolvidas na
plancie pantaneira so a pecuria, a pesca, o turismo, a
extrao de minrios e, em menor escala, a agricultura. No
planalto esto, entre as principais atividades, a pecuria e
a agricultura.
Pecuria Destaca-se como a atividade que acom-
panhou o processo de ocupao mais recente do Pantanal
e expandiu-se com o fm do ciclo do ouro no sculo XIX.
desenvolvida de maneira extensiva nas pastagens naturais,
em grandes propriedades, predominando a cria e a recria
com baixo ndice de desfrute. Com cerca de 3,2 milhes de
cabeas, a atividade tradicionalmente est condicionada
ao regime anual de cheia e seca, pois quando ocorre a
A
R
A
Q
U
M
A
L
C
N
T
A
R
A
Vaqueiros apartando o gado, Pantanal de Paiagus (MS).
P
A
N
T
A
N
A
L
180 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
UM P DE QU ?
foram convocados trataram de espalhar seus flhos de
novo pelas margens do Rio Paraguai.
A Guerra acabou em 1869. Mas o quebracho no
teve sossego. Foi justamente nessa poca que a eco-
nomia pantaneira descobriu seu uso mais rentvel e
comeou a extrair dele o tanino, substncia muito usada
na indstria farmacutica e na curtio do couro.
Entre o sculo XIX e comeo do XX, o Pantanal
se tornou o maior produtor mundial de tanino. Esse
boom coincidiu com o apogeu do porto de Corumb,
o maior da Amrica Latina na poca. Junto com o
tanino, esse porto escoava toda a produo do oeste
brasileiro e pases vizinhos.
Aquela pacata rvore de fazenda revolucio-
nou a economia local. Porto Murtinho
e Corumb fer vilhavam com
as toras de quebracho que
no paravam de sair da mata.
Porto Murtinho uma cidade
que nasceu do quebracho nos
anos de 1930, em volta de
uma das fbricas de tanino
mais modernas do mun-
do, gerenciada por alemes
membros do partido nazista.
Mas o Brasil entrou na Segunda Guerra
Mundial e os alemes deixaram Porto Murtinho.
Ao mesmo tempo descobriu-se uma fonte de tanino
melhor do que o quebracho. O ciclo de ouro do que-
bracho estava prximo do fm.
Nada como um dia aps o outro. Aps o ciclo do
quebracho, Porto Murtinho virou uma cidade normal.
Corumb investe no turismo e est melhorando. E o
quebracho voltou vida tranqila da fazenda. No
fcou famoso no mundo inteiro, mas continua muito
querido no Pantanal.
SAIBA MAIS Pindorama Filmes (www.pindorama
flmes.com.br; www.futura.org.br).
QUEBRACHO
Pouca gente no Brasil conhece o quebracho. Mas
essa rvore famosa no Pantanal e faz parte da histria
e da vida do povo pantaneiro. O quebracho pode ser
chamado tambm de brana, chamucoco, coronilho,
e tem a madeira muito, mas muito dura. Quebracho
vem da expresso em espanhol quebra acha, que quer
dizer quebra machado. A Schinopsis brasiliensis pode
alcanar at 22 metros de altura e a largura do tronco
varia de 40 cm a 70 cm. No Pantanal, essa rvore faz
parte da paisagem.
O quebracho est totalmente inserido no cotidiano
das fazendas, seja nos galpes, nas casas (em forma de
cadeira, guarda-roupa ou estrutura), nas cercas e
tambm na paisagem. Os quebrachos ao ar
livre passam o dia inteiro s olhando o
gado pastar, ouvindo os passarinhos
cantar. Mas a vida dele no foi
sempre essa moleza.
No sculo XIX, Paraguai,
Argentina, Brasil e Uruguai
se meteram em uma guerra
sem muita razo de ser. A
Argentina, o Uruguai e o Brasil
formaram a trplice aliana contra o
Paraguai, que comeava a mostrar indepen-
dncia demais. As batalhas incendiaram a regio
do Rio Paraguai, que era um ponto estratgico de
escoamento. Quem dominasse o Rio, dominava a
economia do inimigo.
Como j sabemos, a madeira do quebracho
dura, quase blindada. Por isso, algum teve a
idia de plantar estacas de quebracho no leito
do Rio Paraguai, formando uma barreira submersa.
Qualquer barco grande que tentasse passar, tinha o
fundo do casco rasgado pelas toras. Ele foi to usado
como arma de guerra, que quase entrou em extino.
A sorte que o quebracho uma das rvores que mais
produz sementes no Pantanal. Os quebrachos que no
I
L
U
S
T
R
A
O
R
U
B
E
N
S
M
A
T
U
C
K
P
A
N
T
A
N
A
L
181 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
crescida das guas, o gado retirado para as partes mais
altas. Na baixa, o caminho inverso feito. Nos ltimos
anos, h indicaes de mudanas radicais com a introduo
de prticas como a substituio de pastagens nativas por
espcies exticas, a retirada da vegetao ciliar e o
uso de biocidas. O Pantanal do Rio Negro, um dos mais
conhecidos no mundo, tem sofrido um processo acelerado
de desmatamento, inclusive para abastecer as carvoarias
produtoras de carvo vegetal para a siderurgia.
A pecuria no planalto tm repercusses na plancie,
particularmente no que se refere ao transporte de sedimen-
tos, tendo como efeito mais evidente o assoreamento de
rios e casos de mudanas em grandes regies como a do Rio
Taquari. Pecuaristas desenvolvem h algum tempo experi-
ncias de produo do chamado boi orgnico, mantendo
a criao em condies naturais na plancie, com o objetivo
de criar alternativas sustentveis.
Pesca e turismo O peixe o bem natural que mais
gera trabalho e renda no Pantanal. Essa condio pode mu-
dar devido ao desmatamento no planalto e na plancie para
o plantio de pastagens e gros, somado s queimadas, o que
afeta negativamente os sistemas aquticos e, conseqente-
HELENA MEIRELLES (1924-2005)
Eu nasci na antiga estrada boiadeira, margem
do Rio Anhandu (...) onde eu me criei, no meio
da boiaderama, escutando berrante tocar,
batida de Polaco (...), o guizo dos cargueiros, o
grito da peonada (...).
(trecho do depoimento De Boiadas e Boiadeiros,
do CD Helena Meirelles, 1994).
A violonista Helena Meirelles passou a vida rodan-
do o Pantanal. A Dama da Viola, como era chamada,
nasceu em Campo Grande, antigo Mato Grosso, hoje
Mato Grosso do Sul. Passou a infncia na fazenda do
av ouvindo os passantes que vinham do Paraguai e se
divertiam noite tocando violo. De tanto observ-los,
NO CONFUNDA...
M
Baas so as lagoas do Pantanal. As tem-
porrias so formadas pela gua das chuvas e
as permanentes possuem um canal de comu-
nicao com os rios. Suas guas so calmas,
cobertas por vegetao futuante e separadas
por cordilheiras.
M
Salinas so lagoas diferentes das demais
porque, devido ao depsito de substncias inor-
gnicas em suas bordas, suas guas apresentam
uma concentrao elevada de sais, que servem
de suprimento para o gado. Durante a estiagem,
secam completamente e passam a ser chamadas
de barreiros.
M
Banhados fcam prximos aos rios, em
reas onde extravasam as guas durante a
enchente. So ricos em vegetao futuante e
submersa. Nas partes mais frmes, encontram-
se espcies tpicas de solos encharcados.
PERSONAGEM
aprendeu a tocar tam-
bm. Ela tinha, ento,
8 anos e aos 9 anos ani-
mava festas na fazenda
do av e nas fazendas
vizinhas tocando com os violeiros. De dia, trabalhava na
roa e no pasto. Nunca freqentou escola. Adulta, largou
a famlia para tocar em bares e casas de prostituio.
O sucesso veio aos 68 anos, em 1993, quando ga-
nhou o prmio de artista revelao da revista americana
especializada Guitar Player. A reportagem a comparava
com guitarristas notveis e sua palheta esculpida por
ela em chifre de boi - apareceu no pster da revista ao
lado de notveis como Paul Mc Cartney e Eric Clapton.
No ano seguinte, gravou seu primeiro CD. Depois, vieram
outros trs.
I
L
U
S
T
R
A
O
C
A
R
L
O
S
M
A
T
U
C
K
P
A
N
T
A
N
A
L
182 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
HIDROVIA PARAN-PARAGUAI
O mais polmico mega-projeto proposto para o Pantanal a construo da hidrovia ParanParaguai. No Brasil, ela
tem como ponto de partida no Rio Paraguai, na cidade de Cceres, no Mato Grosso, e alcana, no Uruguai, a cidade de Nueva
Palmira. O projeto tem uma extenso de 3.400 quilmetros e seu objetivo permitir a passagem de grandes comboios de
embarcaes durante todos os dias do ano, 24 horas por dia.
Estudos independentes, realizados por diferentes instituies, indicam que as obras de dragagem de canais, expanso
de curvas, derrocamento e construo de portos, como previsto, traro danos signifcativos para o Pantanal e todo Sistema
Paraguai de reas midas. Entre os danos, notadamente, prev-se o aumento da vazo do Rio Paraguai, com conseqente
reduo na disponibilidade de lagoas formadas nas cheias, afetando a reproduo de centenas de espcies dependentes
desses ambientes, com resultados para as populaes de peixes e aves.
A ao da Coalizo Rios Vivos e de outras organizaes da sociedade civil em vrias frentes fez com que, em 1998, o
governo Fernando Henrique Cardoso ofcialmente abandonasse o projeto. Isso, porm, no determinou o fm das tentativas
de viabiliz-lo, pois ressurgiu logo a seguir, com a iniciativa de empresrios do setor e os governos de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul de constru-la por partes. Acionado, o Ministrio Pblico Federal obteve vitria na Justia Federal. Em julho
de 2004, o Ministrio dos Transportes voltou a carga com uma solicitao de dragagem em qualquer dos 1.270 km do
Rio Paraguai, no Pantanal. O Ibama negou autorizao para o pedido. Agora consta como prioridade do PAC, programa
de desenvolvimento do governo Lula.
ZOOM
OS MITOS PANTANEIROS
Em meados do sculo XVI, na poca da explorao desta regio, acreditava-se ser o Pantanal um enorme
lago de gua doce, que o historiador alemo Schmidel, em 1555, chamou de Lago dos Xaras, por causa da tribo
indgena que habitava o local. Por muito tempo, o Pantanal continuou sendo chamado assim, mesmo quando
descobriram que no se tratava de um lago e sim de uma plancie que fcava alagada. Apenas no comeo do sculo
XX a regio comeou a ser chamada de Pantanal, denominao que tambm no correta, porque essa regio
no fca alagada o tempo todo como se fosse um pntano, mas periodicamente.
O mito de que o Pantanal j havia sido mar se espalhou na dcada de 1930 pelos que acreditavam na exis-
tncia de grandes reservas de petrleo na regio, em continuidade s jazidas petrolferas da Bolvia. A dvida s
foi esclarecida na dcada de 1960, quando foram realizadas investigaes geolgicas na rea. Essas investigaes
demonstraram que no havia no local qualquer evidncia da presena de petrleo e muito menos de organismos
marinhos, j que as conchas encontradas na regio so de gua doce e as lagoas salinas apresentam guas bicarbo-
natadas, no tendo nenhuma relao com a gua salgada do mar. Tambm acreditava-se que o Pantanal teria sido
resultado de uma grande eroso. Mas, em 1988, estudos revelaram que a regio foi formada pelo soerguimento da
placa tectnica onde est o Brasil. Hoje, j se sabe que esse movimento de formao do Pantanal est relacionado
com a Cordilheira dos Andes, que exerce uma enorme presso sobre a borda dessa placa.
SAIBA MAIS Kit Pantanal/Ecoa para estudantes (http://ecoa.org.br).
P
A
N
T
A
N
A
L
183 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
mente, toda a fauna aqutica, particularmente os estoques
pesqueiros. A gravidade do quadro mais evidente quando
se considera que os peixes constituem um dos maiores
compartimentos de reserva viva de nutrientes e energia,
garantindo a sobrevivncia de inmeras outras espcies e
o equilbrio do sistema. Entre outras funes, atuam como
dispersores de sementes e constituem a alimentao bsica
para muitos componentes da fauna. Nos perodos de seca,
a mortalidade aumenta, pois as populaes so obrigadas
a concentrarem-se nas lagoas e canais permanentes, cons-
tituindo presas fcies para aves e outros animais, alm de
fcarem ainda mais suscetveis presso da pesca.
So desenvolvidas trs modalidades principais de
pesca: a de subsistncia, a esportiva e a profssional. A
primeira registrada h mais de duzentos anos e parte
da cultura regional, constituindo importante fonte de pro-
tena para as populaes ribeirinhas. A pesca profssional
viabiliza a subsistncia de pelo menos 3.500 pescadores em
toda a regio. As espcies de peixes mais capturadas pelos
pescadores profssionais so consideradas espcies nobres,
como pintado, cachara, ja, dourado e o pacu. Curimbat
e piavuu tambm so capturados e possuem um menor
valor comercial. A esportiva se tornou o principal atrativo
do turismo regional, especialmente no Mato Grosso do Sul,
trazendo mais de 100 mil pescadores por ano (ver Pesca
Esportiva, pg. 470). Conta com uma grande infra-es-
trutura de barcos e gera milhares de postos de trabalho
nos dois estados.
Polticas equivocadas e falta de planejamento afnados
com as especifcidades e funcionamento do sistema colocam
em risco a atividade. A partir do fnal da dcada de 1970,
em decorrncia das facilidades de acesso e implantao
gradativa de infra-estrutura, o turismo pesqueiro teve um
crescimento considervel no Pantanal Mato-grossense.
A demanda dos pescadores esportivos por iscas vivas
(pequenos peixes e crustceos), as quais servem de ali-
mento para as espcies nobres, incrementou o comrcio,
mobilizando centenas de famlias de ribeirinhos, de pees
das fazendas e trabalhadores das periferias das cidades para
atuar na atividade de coleta. Essas pessoas, conhecidas como
isqueiros ou coletores de iscas, foram gradativamente se
estabelecendo s margens dos rios e lagoas pantaneiras,
criando novas comunidades (ver Poluio Prejudica
Pesca Continental, pg. 320).
Apesar da importncia da pesca, devem ser anotados
problemas ambientais e sociais. Entre os sociais est a
prostituio e entre os ambientais a sobrepesca de espcies
como o pacu.
Alm do turismo de pesca, tambm se desenvolveram
o turismo ecolgico e o rural, que, na ltima dcada, contri-
VOC SABIA?
M
O Pantanal considerado um dos maiores
centros de reproduo da fauna da Amrica,
onde so encontrados representantes de quase
toda a fauna brasileira.
M
O smbolo do Pantanal o tuiui, que, com
as asas abertas, tem mais de dois metros de
envergadura.
M
A ona pantaneira o terceiro maior felino
do Planeta, depois do tigre e do leo.
M
As grandes plantaes de algodo no entorno
do Pantanal do Mato Grosso recebem, a cada safra,
de 12 a 15 aplicaes de agrotxicos de alto poder
de mortandade para a fauna aqutica.
PLANTAS MEDICINAIS
O pantaneiro, muitas vezes ilhado pela fora das
guas, alm de infuenciado pela cultura indgena,
notvel conhecedor do poder medicinal das plantas.
Algumas mais conhecidas e suas propriedades:
M
Para-tudo a planta medicinal mais
famosa, resolve problemas de estmago, tosse
e outras doenas;
M
Erva-de-santa-maria mata vermes;
M
Barbatimo serve para cicatrizar feridas
e curar infamaes;
M
Xarope de jatob cura a tosse;
M
Leite de taiva para dor de dente;
M
Raiz de tiririca controla a diabete.
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
M
A
R
I
O
F
R
I
E
D
L
N
D
E
R
184
PANTANAL
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Antiga sede da Fazenda Descalvados, Pantanal do Rio Paraguai, Cceres (MT) (acima); Arco da Iluminao em Pocon
(MT) (abaixo esq.) e Mascarados de Pocon (MT) (abaixo dir.).
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
M
A
R
I
O
F
R
I
E
D
L
N
D
E
R
185
PANTANAL
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Guaranazinho pantaneiro (acima esq.); cavaleiro cristo pede benos antes da Cavalhada de Pocon (MT) (acima dir.);
mantenedor do exrcito mouro na Cavalhada de Pocon (MT) (abaixo esq.) e pantaneiro com berrante (abaixo dir.).
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
M
A
R
I
O
F
R
I
E
D
L
N
D
E
R
186
PANTANAL
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Cavalhada de So Benedito em Pocon (MT) (acima) e comitiva de gado no Pantanal (abaixo).
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
M
A
R
I
O
F
R
I
E
D
L
N
D
E
R
187
PANTANAL
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
O PANTANAL
DOS PANTANEIROS
Conhecido e aclamado por sua
diversidade faunstica e belezas
naturais, poucos sabem que o
Pantanal abriga interessantes
populaes tradicionais que convivem
h sculos com o ritmo da natureza
local, sem causar grandes danos, nem
depender excessivamente de outros
ambientes e culturas.
Proteger ou conservar o Pantanal
signifca conhecer e aceitar as
populaes tradicionais como parte
da riqueza socioambiental local.
MARIO FRIEDLNDER, 46 anos,
vive em Mato Grosso desde 1981.
Atua como fotgrafo profssional
desde 1985 tendo se especializado
em documentaes de natureza,
expedies, arqueologia e populaes
tradicionais.
A partir de 2005, mudou-se para
Vila Bela, no oeste de Mato Grosso,
onde desenvolve projetos culturais e
documentao da cultura negra.
Vibrao da torcida moura na Cavalha-
da de Pocon (MT) (alto); lembranas
da escravido no Pantanal de Pocon
(MT) (meio) e cozinheiro da comitiva
com bruacas de couro (ao lado).
P
A
N
T
A
N
A
L
188 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
buram para a melhora da infra-estrutura, com mais hotis e
barcos, e para o aperfeioamento dos servios. O turismo
uma atividade que pode ampliar-se com sustentabilidade,
pois promove retorno econmico requerendo menos investi-
mento que outras. Todavia, ainda faltam coisas bsicas como
um plano diretor global - com Paraguai e Bolvia - e planos
diretores especfcos por regio e ramos. Infelizmente, o
turismo no tem sido considerado em todo seu potencial,
prevalece at aqui o discurso industrialista para algumas
regies (ver Turismo Sustentvel, pg. 469).
Minerao e siderurgia - A minerao e, mais recen-
temente, a siderurgia, so atividades em plena expanso na
bacia do Alto Rio Paraguai, impulsionadas pelo crescimento
da economia brasileira e a demanda mundial. So explora-
dos o ferro, o mangans e o calcrio na parte sul e ouro e
diamante na parte norte. A minerao encontra-se em dois
FAZENDEIROS AJUDAM A PRESERVAR
ELAINE PINTO*
Apesar da importncia da Bacia do Alto Paraguai
(BAP) na manuteno dos processos hidrolgicos e para
a conservao da biodiversidade, apenas 3% de sua rea
total em territrio brasileiro (1.084.610,00 ha), esto
legalmente protegidos em 100 unidades de conservao
(UCs) de Proteo Integral e Reservas Particulares do
Patrimnio Natural (RPPNs). A BAP possui 41 espcies
de vertebrados ameaados de extino, 22 mamferos
e 19 aves, e destas, apenas 25 espcies encontram-se
protegidas em dez UCs, indicando uma grande lacuna para
a conservao da biodiversidade na regio.
Na plancie pantaneira, 6% da rea total
(854.534,88 ha) se encontram legalmente protegidos
sob a forma de UCs de Proteo Integral e RPPNs, que
representam 29% (247.949,79 ha) desse total. Dessa
forma, a importncia das RPPNs evidente, pois a
conservao do Pantanal est diretamente relacionada
vontade dos fazendeiros em criarem RPPNs, visto que
mais de 90% das terras nesta regio so propriedades
particulares. As RPPNs, como UCs privadas, tm se mos-
trado atraentes para proprietrios rurais interessados
em colaborar de forma mais efetiva para a conservao
da regio ou para aqueles que buscam alternativas
econmicas de baixo impacto como o ecoturismo.
No Pantanal do Estado de Mato Grosso do Sul, mais
especifcamente, as 17 RPPNs estaduais e federais a
existentes somam 98.029,35 ha, o que corresponde a
55% do total das reas que se encontram protegidas
em UCs nessa imensa plancie.
Nesse contexto, as RPPNs so estratgicas para o
aumento da extenso de reas sob proteo legal no
Pantanal e para a consolidao dos Corredores de Bio-
diversidade, uma das estratgias recomendadas pelo
Workshop de Aes Prioritrias para Conservao do
Cerrado e Pantanal, atualizado em 2006 pelo Ministrio
do Meio Ambiente. Os Corredores de Biodiversidade
tm como objetivo garantir o trnsito das espcies, pro-
movendo a conectividade entre as UCs, que constituem
as reas ncleo do Corredor, atravs de um mosaico de
reas ambientalmente sustentveis.
*Biloga, Mestranda em Ecologia e Conservao e Especialista em reas Protegidas
da diviso regional Cerrado-Pantanal da CI-Brasil e.pinto@conservacao.org
complexos na periferia do Pantanal: Macios do Urucum
e de Cuiab-Cceres. No Urucum, municpio de Corumb,
situa-se uma das maiores jazidas de mangans da Amrica
Latina, com mais de 100 bilhes de toneladas; as de ferro
esto estimadas em 2 bilhes de toneladas. Todo mangans
extrado de minas subterrneas e o ferro, de mina a cu
aberto. As atividades de minerao podem afetar os lenis
freticos que abastecem rios, crregos e poos, contami-
nando a gua. Impactos negativos da minerao j foram
evidenciados no municpio de Corumb. Grandes empresas
como a Vale do Rio Doce, a Rio Tinto e a EBX so responsveis
pelo maior volume de extrao mineral e tambm esto
envolvidas na constituio de um plo siderrgico para a
produo do ferro-gusa e ao (ver Minerao, pg. 352).
Outras empresas como Petrobras e Duke Energy participam
de empreendimentos correlatos, como a de uma usina
P
A
N
T
A
N
A
L
189 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
PARTE DE UM SISTEMA
O Pantanal faz parte do maior conjunto de
reas midas do mundo. Este sistema, conhecido
como Sistema Paran-Paraguai de reas midas,
tem cerca de 400 mil km2, localizado no vale
central da Grande Depresso da Amrica do Sul
ou Depresso Sub-andina da Bacia do Prata.
Estrutura-se ao longo de mais de 3.400 km, desde
o norte do Pantanal, tendo o Rio Paraguai como
eixo, seguindo pela plancie aluvial do Rio Paran
(Mdio e Inferior) at o Rio da Prata.
O Paraguai um dos poucos rios livre de represas
no mundo. Nasce ao norte, no Estado de Mato Grosso,
e chega plancie Pantaneira para espalhar ou escoar
as guas vindas das partes mais altas. O Rio Paran
tambm no barrado no trecho em que compe
as reas midas do Sistema ParaguaiParan.
Aproximadamente 20 milhes de pessoas vivem
nessa regio, que constitui uma unidade hidrolgica,
ecolgica, econmica, cultural e populacional.
A manuteno dos ciclos hidrolgicos e da
biodiversidade fundamental para a sustenta-
bilidade do sistema e, portanto, da populao que
depende dele para tirar seu sustento, ter fontes de
renda e trabalho, gua de qualidade, alimentos e
manter seus modos de vida. Esto dentro desse
sistema cidades de diferentes portes, como Cuiab
e Corumb, no Brasil; Assuno, no Paraguai, e
Buenos Aires, na Argentina.
Essa situao j foi compreendida pelos governos
dos cinco pases (Bolvia, Paraguai, Argentina, Uruguai
e Brasil) que tm parte dessas reas midas em seus
territrios. Um evento-marco ocorreu em agosto de
2005, em Pocon, Brasil, quando representantes
destes governos, juntamente com ONGs e organismos
internacionais, frmaram a Carta de Pocon, na qual
se comprometem a tomar medidas para garantir a
sustentabilidade do sistema e das suas populaes
atravs da construo de um programa integrado de
desenvolvimento.
CULINRIA PANTANEIRA
A culinria pantaneira foi enriquecida pela
presena dos vizinhos paraguaios e bolivianos e,
como exemplos, podem ser citados o puchero, a sopa
paraguaia, a chipa e a saltea. E o que no pode faltar
na mesa do pantaneiro o arroz com carne-seca,
o chamado quebra-torto (a primeira refeio do
dia), junto com o caf com leite. Apreciam ainda a
farofa com banana, pratos preparados com milho e
mandioca, o peixe (que pode ser frito, empanado,
ensopado) e tambm o licor de pequi.
Sopa Paraguaia (tempo estimado:
150 minutos; nmero de pores: 8)
2 colheres de sopa de manteiga
2 cebolas mdias
4 espigas de milho
1 copo de leite
1 copo de gua
3 ovos
1 prato fundo de queijo grosseiramente ralado
6 colheres de sopa de fub fno
1 colher de sopa de fermento em p
Sal
M
Pique as cebolas e refogue na manteiga,
juntando sal a gosto.
M
Adicione 1 copo de gua e cozinhe at que
comecem a se desfazer. Retire do fogo e deixe
esfriar.
M
Debulhe as espigas de milho e bata os gros
no liqidifcador com o leite, cuidando para que
alguns fquem meio inteiros. Despeje sobre o
refogado de cebolas j frio, acrescente as gemas,
o queijo, o fub, o fermento e misture bem.
M
Adicione fnalmente as claras batidas em neve
e misture cuidadosamente, com movimentos de
baixo para cima. Despeje a massa numa assadeira
untada com manteiga e leve ao forno quente, at
que se forme uma crosta dourada na superfcie.
P
A
N
T
A
N
A
L
190 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
A SERRA DO AMOLAR
Quem navega pelas guas na borda oeste do
Pantanal brasileiro, prximo fronteira da Bolvia,
ao deparar-se com a Serra do Amolar, fatalmente
se recorda das palavras do poeta Manuel de Barros:
...estamos por cima de uma pedra branca, enorme que
...o rio Paraguai, l em baixo, borda e lambe....
A Serra marca o relevo da plancie e constri um
desenho sinuoso no Rio Paraguai. At mesmo as guas
dos rios acabam por se renderem ao compasso de suas
elevaes. Localizada a aproximadamente 100 quil-
metros da cidade de Corumb, no Mato Grosso do Sul,
numa das regies mais selvagens e naturais do mundo,
a Serra do Amolar faz uma barragem natural que reduz
a velocidade de escoamento dos rios Paraguai, So Lou-
reno e afuentes, conformando terrenos de extensas
reas alagadas com grandes lagoas e baas.
Com cerca de 80 quilmetros de extenso, a
Serra do Amolar tem diversidade biolgica nica,
a qual dada pelos gradientes de altitude. As ele-
vaes alcanam at 1.000 metros acima do nvel
do mar. So paisagens que abrigam fisionomias
vegetais distintas, representantes dos biomas
Amaznia, Cerrado e do Bosque Seco Chiquitano.
Uma das particularidades da Serra a presena de
relictos de caatinga, que, conforme explica Aziz
AbSaber, so formaes semelhantes vegetao da
Caatinga e documentam um perodo em que a regio
Prosa & Verso
Aqui o Porto de Entrada para o Pantanal.(...)
Aqui o silncio rende.
Os homens deste lugar so mais relativos a
guas do que a terras.
Manuel de Barros: Poemas Narrador Apresenta sua Terra Natal
e Mundo Renovado.
Serra do Amolar e o Pantanal do Rio Paraguai, na divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
M
A
R
I
O
F
R
I
E
D
L
N
D
E
R
C AR TO P OS TAL AME A ADO
P
A
N
T
A
N
A
L
191 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
apresentava clima mais seco. Esses relictos podem
ser entendidos como verdadeiros museus vivos,
que teriam se instalado no Pantanal e nas serras
circundantes entre 13 a 23 mil anos, sobrevivendo
s variaes climticas como s chuvas e ao aumento
da umidade que culminou na formao da maior rea
mida do mundo.
Fauna em extino
Na regio, so encontradas espcies animais
ameaadas de extino, como a ona-pintada (Pan-
thera onca), o tatu-canastra (Priodontes maximus),
o tamandu-bandeira (Myrmecophaga tridactyla),
o tamandu-mirim (Tamandua tetradactyla), a anta
(Tapirus terrestris) e a ariranha (Pteronura brasilien-
sis). Alm destas, quem visita a regio, rapidamente
percebe e fascina-se com a diversidade de aves que
sobrevoam os rios, lagos, pastagens naturais e a
morraria. Com sorte, aves como a guia-cinzenta e
a arara-azul-grande podem ser avistadas.
O relatrio das Aes Prioritrias para Conser-
vao da Biodiversidade do Cerrado e Pantanal,
publicado em 1999, d Serra o reconhecimento
como rea de alta prioridade para conservao. A
rea indgena Guat na Ilha nsua (com 12.716 ha)
inclui a morraria do extremo norte da Serra. Quatro
reservas particulares do patrimnio natural (RPPNs),
Penha e Acurizal, com 13.200 ha cada, Doroch, com
25.518 ha, e Rumo Oeste, com 990 ha, tambm
abrangem parte da Serra do Amolar.
Como parte do conjunto, impressiona a pai-
sagem da plancie que circunda os morros. Em
territrio brasileiro, est o Parque Nacional do
Pantanal Mato-grossense, com aproximadamente
135.000 ha, ao norte, a Estao Ecolgica Taiam,
e, a Oeste, em territrio boliviano, a rea Natural
de Manejo Integrado de San Matias, com 2.918.500
ha. O conjunto das RPPNs e o Parque Nacional do
Pantanal constituem o Stio do Patrimnio Natural
Mundial do Pantanal, designao dada pela Unesco
a reas de condies naturais excepcionais.
Nesse cenrio, vale destacar as trs grandes
lagoas: a maior delas, a Uberaba, est localizada no
norte da Serra do Amolar, seguida juzante do Rio
Paraguai, pela Gaba e a Mandior. Mais uma vez, a
natureza distinguiu esta regio, pois se observa um
fenmeno singular: durante o perodo das cheias,
as guas do Rio Paraguai e afluentes escoam para
essas lagoas, o fluxo invertido durante o perodo
de baixa.
ndios Guat
A regio no muito povoada, porm, o lugar
onde vivem os ndios Guat, conhecidos como os
verdadeiros canoeiros do Pantanal. Encontram-se
tambm famlias ribeirinhas, que se sustentam
basicamente da pesca de subsistncia, da comercia-
lizao de iscas vivas para a pesca principalmente
tuviras (Gymnotus carapo), mussuns (Synbranchus
marmoratus) e caranguejos (Dilocarcinus paguei
paguei) , de pequenos cultivos e do atendimento
a turistas.
Alguns ribeirinhos so trabalhadores rurais,
contratados para servios de tratoristas, campeiros
ou para a lida geral no campo. Essas famlias adapta-
ram-se ao ciclo natural do Pantanal e aprenderam a
conviver com o regime de cheias e secas, retirando o
seu sustento dos recursos naturais. Suas casas foram
construdas nas margens dos rios, em reas mais
elevadas que formam pequenas ilhotas.
Seguramente esta uma das regies com
altssima importncia para a conservao e merece
ateno especial. Organizaes como a Ecoa, Ecologia
e Ao, juntamente com outras ONGs e instituies
de pesquisa, trabalham intensivamente pela con-
servao e para a melhoria da qualidade de vida das
populaes locais.
Em 2003, a Ecoa constituiu um Ncleo de Apoio
pesquisa e ao desenvolvimento sustentvel na Vila
do Amolar, visando promover a gerao de renda, a
qualidade de vida e a cidadania, a partir de bases
sustentveis.
P
A
N
T
A
N
A
L
192 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
termoeltrica movida a gs. A Brasken, do grupo Odebretch,
tem interesse em construir um plo gs-qumico.
A maior preocupao dos ambientalistas para os prxi-
mos anos com a produo siderrgica e sua dependncia
do carvo vegetal, fator que j tem levado a uma retirada
de vegetao de maneira acelerada.
Agricultura A agricultura praticada na plancie
pantaneira, embora com pouca expresso econmica j
que o alagamento sazonal e os solos pobres das reas mais
altas so limitantes tem provocado danos em regies
ecologicamente sensveis como a do Pantanal do Rio Mi-
randa, onde a cultura do arroz intensiva no uso da gua e
de biocidas agrcolas. Nos anos mais secos ntida a retirada
de gua alm da capacidade de suporte do rio. Na regio
do planalto, a agricultura de gros e algodo praticada
em larga escala tambm com a utilizao de agrotxicos
carregados para os cursos de gua e da atingindo a pla-
ncie, onde os impactos ambientais da contaminao so
agravados. A baixa velocidade de escoamento dos cursos
d gua prolonga o tempo de permanncia dos poluentes e
favorece o efeito cumulativo.
Os grandes projetos e a degradao
A moderna ocupao do Cerrado inicia-se na dcada
de 1970, impulsionada pelas polticas governamentais que
abarcavam fnanciamentos para a agricultura e pecuria a
juros subsidiados, construo de estradas e hidreltricas,
tendo como suporte pesquisas da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuria. As pastagens de brachiaria e as
plantaes de soja esto na linha de frente desse processo.
Inicia-se a era dos grandes desmatamentos com profundas
transformaes na bacia do Rio Paraguai e no Pantanal.
Alguns projetos ainda so ameaa para a plancie e toda
a bacia, sendo o mais emblemtico deles o da Hidrovia
Paran-Paraguai (ver Zoom, pg. 182).
O gasoduto Bolvia-Brasil, projetado e construdo com
o objetivo de transportar e fornecer gs para Mato Grosso
do Sul, So Paulo, Paran, Santa Catarina e Rio Grande do
Sul, outro megaprojeto com resultados no Pantanal.
Esse empreendimento tornou-se um dos suportes para a
embrionria industrializao da regio atravs de planeja-
dos plos gs-qumico e siderrgico. No caso deste ltimo,
seu efeito em termos de degradao j percebido com o
aumento das taxas de desmatamento para produo de
carvo vegetal para abastecimento de fornos. Prev-se,
caso medidas drsticas no sejam tomadas, que milhares
de hectares sero devastados.
As queimadas anuais para limpeza de pastagens na-
turais degradam o ambiente natural e tm conseqncias
srias para a sade humana. Os postos de sade da regio
fcam lotados de pessoas com problemas pulmonares nos
perodos mais crticos. Na economia, alm da perda de qua-
MUDAN A C L I MT I C A
Na regio da Bacia do Prata e no Sudeste brasileiro, onde est o Pantanal (e tambm grande parte dos
remanescentes de Mata Atlntica), as elevadas temperaturas do ar provocadas pelo aquecimento global podero
comprometer a disponibilidade de gua para a agricultura, consumo ou gerao de energia devido a um acrscimo
previsto na evaporao, segundo estudo do Ministrio do Meio Ambiente sobre os efeitos da mudana climtica na
biodiversidade brasileira. A extenso de uma estao seca em algumas regies do Brasil poderia afetar o balano
hidrolgico regional e assim comprometer atividades humanas, ainda que haja alguma previso de aumento de
chuvas na Bacia do Prata e regio Sudeste.
SAIBA MAIS Marengo, Jos A. Mudanas Climticas Globais e seus efeitos sobre a biodiversidade. Braslia:
Ministrio do Meio Ambiente, 2006.
VEJA TAMBM Brasil (pg. 70), Mudana Climtica Global (pg. 358); O IPCC e a Mudana Climtica (pg.
360); O Brasil e a Mudana Climtica (pg. 365); Desafo do Sculo (pg. 373).
P
A
N
T
A
N
A
L
193 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
AS USINAS DE LCOOL
Em setembro de 2003, o ento governador de Mato Grosso do Sul, Zeca do PT, assinou decreto autorizando
a instalao de destilarias de lcool, usinas de acar e de qualquer outro tipo de indstria de portes pequeno,
mdio, grande, excepcional, de alto grau de poluio... na Bacia do Alto Rio Paraguai.... Na bacia descrita, esto
os 140 mil km2 do Pantanal brasileiro. Na prtica, o Decreto era uma excrescncia jurdica, pois tentava revogar
uma Lei Estadual de 1982, a qual estabelece a proibio de instalao de ...destilaria de lcool ou usina de acar
e similares na rea do Pantanal Sulmato-grossensse, correspondente rea da bacia hidrogrfca do Rio Paraguai
e de seus tributrios..., aprovada pela Assemblia Legislativa.
A aprovao da Lei foi o ponto culminante da campanha comandada pelo Comit de Defesa do Pantanal, a qual
teve como foco original impedir a instalao de uma grande destilaria de lcool no municpio de Miranda, na plancie
pantaneira. Os jornais da poca informam que mais de 50 mil pessoas saram s ruas do Estado e sobre a repercusso
nacional e internacional. A mobilizao, uma das maiores j ocorridas no Brasil por razes ambientais, contribuiu com
a luta pela democratizao do Pas e, certamente devido a ela, os diferentes ecossistemas pantaneiros no sofreram
danos das dimenses observadas em outras regies ao longo dos anos. Entre os lderes desse movimento, estava
o ambientalista Francisco Anselmo de Souza, que imolou-se no centro de Campo Grande, a capital do Estado, em
2005, contra uma nova tentativa do mesmo governador Zeca de alto grau de poluio do Decreto de 2003. Desta
vez atravs de um Projeto de Lei enviado Assemblia Legislativa e rejeitado pelos deputados.
A oposio dos ambientalistas e da sociedade s usinas no Pantanal e seu entorno deve-se fundamentalmente
s caractersticas ambientais nicas dessa depresso interior, que envolveu uma demora de algumas dezenas de
milhes de anos para sua formao. A baixa declividade determina situaes diversas na movimentao das guas e,
conseqentemente, na formao de seus ricos ecossistemas, particularmente os aquticos. A presena indiscriminada
de plantas de produo de lcool e acar e a expanso da monocultura da cana-de-acar promoveria mudanas
irreversveis com conseqncias negativas para a diversidade biolgica e para atividades como o turismo e a pesca.
necessrio ter em conta que apesar da importncia do lcool como biocombustvel, para a produo de um litro
so gerados de 12 a 15 de vinhoto, produto que utilizado como adubo depois de passar em lagoas para resfriamento
e estabilizao, o que leva toda usina de lcool a ter reservatrio para tal fm. Durante a estocagem, existe o perigo
de vazamentos para cursos de gua, causando desastres ambientais. Na bacia do Paraguai existem casos recentes de
acidentes provocados por vazamento de vinhoto em pelo menos uma das usinas construdas antes da Lei de 1982.
Alm dos riscos potenciais dos bilhes de litros de vinhoto para os cursos de gua e lenis subterrneos, outros
fatores a serem considerados so as queimadas da palha; os processos de aumento no transporte de sedimentos
para a plancie devido ao manejo do solo, desmatamento e o uso de biocidas como a ametrina. Um estudo de
Vanessa Camponez Cardinali e outros, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da USP, informa que este ...
um herbicida amplamente utilizado no controle de plantas daninhas em cultura da cana-de-acar no Brasil. Esta
molcula pouco sorvida em solos... Este pesticida passvel de ser lixiviado e de contaminar o lenol fretico.
Isso d uma dimenso dos riscos para os aqferos que abastecem o Pantanal e, particularmente, para o conhecido
Guarani, o qual tem parte de suas zonas de recarga na bacia do Alto Paraguai.
Os temores com relao possibilidade de novas tentativas de mudana na Lei persistem. Afnal os altos
investimentos s vezes mais de R$ 300 milhes por empreendimento com fnanciamento generoso por parte
do BNDES ou aportes internacionais de peso, determinam forte presena poltica atravs do fnanciamento de
campanhas eleitorais, como indicam dados nos tribunais eleitorais.
P
A
N
T
A
N
A
L
194 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
lidade dos solos e guas, acarreta problemas para atividades
como o turismo - vos para Corumb foram interrompidos
devido fumaa nos perodos mais crticos.
A explorao com diferentes fnalidades levou algumas
espcies ameaa de extino na regio, como nos casos da
poaia, para uso medicinal, no Pantanal Norte, e do quebra-
cho (a mais densa das madeiras), para a extrao do tanino
utilizado na curtio do couro. Tambm muito procurado
para mveis e outros usos da madeira como moures de cerca. Esse processo foi intensivo at a dcada de 1950 na
regio sudoeste do Pantanal. Um povo que habita a regio
chamado de Chamacoco, outro dos nomes do quebracho.
Ainda hoje, a retirada ilegal de madeira facilitada pela
extenso territorial, falta de fscalizao e difculdade de
acesso s regies (ver Um P de Qu?, pg. 180).
O trfco, a caa e a venda de peles, couro ou artefatos
provenientes de animais silvestres so prticas que, embora
ilegais, ainda ocorrem. Vrias espcies animais j estiveram
sob forte ameaa de extino. As situaes mais conhecidas
nacional e internacionalmente so as do jacar-do-pantanal
e da ona. Da dcada de 1980 at incio de 1990, o jacar es-
teve sob presso de caa, incentivada pela demanda interna-
cional de sua pele, quando milhes delas saiam ilegalmente
da regio. A ona talvez seja o mamfero mais ameaado
neste momento, devido caa sistemtica e ilegal exercida
por fazendeiros, que alegam prejuzos com os ataques ao
rebanho bovino, por um lado, e por outro com reduo de
seus habitats devido ao desmatamento. O Centro-Oeste,
em particular o Pantanal, considerado uma das principais
regies atingidas pelo trfco (ver Fauna, pg. 243).
A falta de viso e polticas integradas para o Pantanal,
que considerem efetivamente as tendncias regionais e as
necessidades essenciais das populaes locais resultam em
aes isoladas e com pouca repercusso em sua totalidade.
Alm disso, as principais demandas sociais vo sendo postas
em segundo plano, devido falta de implementao de pol-
ticas participativas e a m aplicao de recursos. So escassos
os esforos para a construo de sinergias entre iniciativas,
o que difculta a implementao de estratgias sustentveis
para a melhoria da qualidade de vida no Pantanal.
Os problemas ambientais, sociais e econmicos na
regio pantaneira tm sido cada vez mais intensos, exi-
gindo medidas articuladas e efcazes, condizentes com a
realidade local.
SAIBA MAIS Kit Pantanal/Ecoa para estudantes
(http://ecoa.org.br); Ecoa Ecologia e Ao (www.
ecoa.org.br).
VEJA TAMBM Agricultura Sustentvel (pg.
414); Amaznia (pg. 83); Cerrado (pg. 128).
MSICA DO PANTANAL
GUSTAVO PACHECO
Se a cultura do Pantanal pode ser represen-
tada por um nico objeto, ento esse objeto a
viola de cocho. Feita de uma nica pea de madeira
escavada, semelhante aos cochos usados para
alimentar os animais, e dispondo de cinco cordas,
uma de metal e as outras de tripas de animais, a
viola de cocho um exemplo clssico de como a
msica tradicional tem que se adaptar aos novos
tempos: o sar, madeira preferida para a confeco
do instrumento, s nasce em mata ciliar e sua
extrao proibida; j as cordas de tripas esto
sendo substitudas por linha de pesca, devido
proibio de caa na regio.
A viola de cocho o instrumento mais
importante de duas das mais caractersticas
manifestaes musicais do Pantanal: o cururu e
o siriri, realizados em dias santos, casamentos
e aniversrios. No cururu, os homens se juntam
em roda e cantam versos profanos ou em louvor
aos santos. No siriri, homens, mulheres e crianas
danam em roda ou em fleiras formadas por pares,
e cantam uma srie de peas conhecidas como
fornadas. Alm dessas expresses tradicionais, vale
destacar na msica pantaneira o forte intercmbio
com os pases vizinhos, especialmente o Paraguai,
de onde vieram gneros como a guarnia, a polca
e o chamam (ver A identidade brasileira
atravs da msica, pg. 68).
Z
O
N
A
C
O
S
T
E
I
R
A
195 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
ZONA COSTEIRA
MARCUS POLETTE* E LUIS HENRIQUE MARTON MARCONDES SILVA**
As principais ameaas Zona Costeira brasileira so especulao imobiliria,
sobrepesca (industrial e artesanal), poluio das praias e esturios e turismo desordenado
*Professor do Laboratrio de Gerenciamento Costeiro Integrado da Univali/CTTMar
** Acadmico de Oceanografa da Univali/CTTMar luis.marton@gmail.com
O litoral brasileiro possui uma extenso linear de
7.367 km, ou 9.200 km, quando computados todos os
esturios e deltas, o que inclui uma grande diversidade de
ecossistemas, com o clima variando desde o equatorial ao
tropical e subtropical. Na faixa chamada de Zona Costeira
esto cerca de 400 municpios, ao longo de 17 estados, e
nesse cenrio que vivem cerca de 42 milhes de habitantes
(25% da populao brasileira). Se considerarmos apenas
as pessoas que residem a no mais de 200 km do mar, so
cerca de 135 milhes de pessoas cuja forma de vida im pacta
diretamente os ambientes litorneos um mosaico de
ecossistemas de alta relevncia ambiental. Por conta dessa
importncia, a Zona Costeira reconhecida pela Constituio
como Patrimnio Ambiental Brasileiro.
A gesto dessa rea, pela sua fragilidade e ao mesmo
tempo concentrao populacional, passa a ser um desafo de
natureza tcnica, institucional, legal e administrativa para
o gerenciamento costeiro, especialmente se considerarmos
no apenas as diversas realidades regionais, mas tambm
os diferentes nveis de distribuio de riqueza populacional,
etria, entre outras. Portanto, fundamental possibilitar a
implemen tao de polticas pblicas ambientais coerentes,
compatibilizando a utilizao e ocupao da Zona Costeira
de forma organizada e de acordo com os mais diversos inte-
resses polticos, sociais, econmicos e conservacionistas.
As reas costeiras com baixa densidade populacional fo-
ram alvo de um rpido processo de ocupao, que teve como
vetores bsicos a urbanizao, o turismo e a industrializao.
A concentrao demogrfca na Zona Costeira, porm, tem
sido centralizada em alguns pontos do litoral brasileiro.
R
O
B
E
R
T
O
L
I
N
S
K
E
R
/
T
E
R
R
A
V
I
R
G
E
M
Costa do Descobrimento (BA).
Z
O
N
A
C
O
S
T
E
I
R
A
196 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
ZONA COSTEIRA BRASILEIRA
Fonte: Silveira (1964)
MUDAN A C L I MT I C A
A Zona Costeira brasileira dever sofrer grandes prejuzos com o aumento do nvel do mar provocado pelo
aquecimento global. De acordo com estudo do Ministrio do Meio Ambiente, sobre os efeitos da mudana climtica
na biodiversidade brasileira, as construes a beira mar podero desaparecer, portos podero ser destrudos e
populaes teriam que ser remanejadas. Alm disso, sistemas precrios de esgoto entraro em colapso e novos
furaces podero atingir a costa.
Um estudo divulgado pelo IBGE, em junho de 2007, mostra que em alguns pontos do litoral j h aumentos
signifcativos no nvel do mar. Em Santa Catarina, na cidade de Imbituba, houve variao de 1 cm entre 2002 e
2006. No litoral catarinense, o aumento de 2,5 milmetros por ano confrma as previses internacionais relacionadas
ao aquecimento global. No municpio de Maca, na regio norte fuminense (RJ), foi registrada uma elevao de
surpreendentes 15 cm em quatro anos. Esse grande aumento, no entanto, se deve principalmente a efeitos locais,
que sero investigados, mas pode se acentuar com o aquecimento global (ver Brasil, pg. 70).
Z
O
N
A
C
O
S
T
E
I
R
A
197 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
ZONA COSTEIRA E MARTIMA
A Conveno das Naes Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), em vigor desde 1994 e ratifcada por 148
pases, inclusive pelo Brasil, estabelece que, no Mar Territorial, todos os bens econmicos existentes no seio da
massa lquida, sobre o leito do mar e no subsolo marinho, constituem propriedade exclusiva do pas ribeirinho.
Estabelece ainda que, ao longo de uma faixa de 200 milhas nuticas de largura, chamada de Zona Econmica
Exclusiva (ZEE), esses bens podem ser explorados com a mesma exclusividade. E mais: quando a plataforma
continental, prolongamento natural da massa terrestre de um Estado costeiro, ultrapassa essa distncia, possvel
estender a propriedade econmica do Estado, de acordo com a aplicao de critrios especfcos, a at 350 milhas
nuticas. As zonas costeira e martima ocupam cerca de 4,5 milhes de km2 sob jurisdio brasileira (metade da
extenso de nosso territrio terrestre).
CARCINICULTURA
A carcinicultura criao de camares em vi-
veiros tem crescido nos ltimos 20 anos no Brasil
e, em 2003, ultrapassou a produo de pases como
Equador e Mxico, tradicionais nessa atividade,
considerada a maior ameaa aos manguezais
do mundo todo. Globalmente, cerca de 50% da
destruio dos manguezais tem sido provocada
pela implantao de fazendas de camaro.
Os viveiros encontram no manguezal as
condies ideais para reproduo e crescimento,
mas, em contra-partida, causam desmatamento
e despejam produtos poluidores na gua, que
provocam grandes mortandades de peixes e
caranguejos, fonte de sobrevivncia de muitas
populaes tradicionais litorneas. Essa atividade,
se praticada de maneira intensiva e descontrolada,
como vem ocorrendo com a maioria dos viveiros
(que funcionam sem licena ambiental), se torna
invivel a curto, mdio e longo prazos, pois gera
auto-poluio e a disseminao de doenas e epi-
demias capazes de dizimar os prprios viveiros.
No Brasil, os estados mais afetados so a Bahia e
o Cear. Segundo o Ibama, praticamente 100% dos
viveiros de camares na Bahia esto irregulares.
ZOOM
Cinco das nove regies metropolitanas brasileiras en-
contram-se beira-mar, correspondendo a cerca de 15% da
populao do Pas (aproximadamente 26 milhes de pessoas).
Quando se adicionam a essas regies as seis outras conurba-
es litorneas mais expressivas, atinge-se quase 25 milhes
de habitantes, distribudos em apenas onze aglomeraes
urbanas costeiras. Essas reas de adensamento populacional
convivem com amplas extenses de povoamento disperso e
rarefeito, que so os habitats das comunidades de pescadores
artesanais, remanescentes dos quilombos, tribos indgenas e
outros agrupamentos de vida tradicionais. Tais reas, pelo nvel
elevado de conservao de seus ecossistemas, atualmente so
as de maior relevncia para o planejamento ambiental.
CULTURA CAIARA
O termo caiara denomina as comunidades
de pescadores tradicionais de diversos estados
brasileiros como So Paulo, Paran, Rio de Janeiro
e Esprito Santo. So populaes que perpetuam
muitas heranas dos povos indgenas que ha-
bitavam o litoral antes da colonizao e foram
exterminados. Os caiaras tambm representam
um forte elo entre o homem e seus recursos na-
turais, gerando um raro exemplo de comunidade
harmnica com o seu ambiente (ver Populaes
Tradicionais, pg. 223).
Z
O
N
A
C
O
S
T
E
I
R
A
198 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
AS PRAIAS ESTO DESAPARECENDO?
A linha costeira umas das paisagens mais mutveis do Planeta. Pode avanar no sentido do mar, distanciando
cada vez mais a terra da gua, ou o inverso, recuar em direo ao continente. Nesse ltimo caso, quando o mar
aproxima-se do continente, fala-se em eroso da linha costeira.
As mudanas no espao geogrfco da Zona Costeira ocorrem devido a fatores naturais (como a variao do nvel
do mar e a disperso de sedimentos) e interveno humana, que tem acelerado consideravelmente o processo.
O recuo da linha costeira (eroso) torna-se um problema para o homem a partir do momento em que ele ocupa
essa regio sem critrio de uso (ignorando os fatores naturais e a capacidade do espao) e constri elementos fxos
que interferem nesse movimento. o caso da construo de prdios na orla, calades, aterros, muros e outros
elementos de ocupao, recorrentes principalmente em reas urbanas litorneas. O confito entre esses obstculos
impostos pelo homem agrava a eroso, que pode chegar ao ponto de eliminar as praias usadas para recreao. No
Brasil, esse fenmeno vem ocorrendo de maneira acelerada nas praias de regies metropolitanas como Recife e
Fortaleza, bem como em outras pores do litoral brasileiro.
VOC SABIA?
M
As praias arenosas constituem um dos ambientes mais dinmicos da Zona Costeira. A dinmica
costeira a principal responsvel pelo desenvolvimento das praias arenosas e pelos processos de
eroso e/ou acreso que as mantm em constante alterao. Os ventos, as ondas, por eles geradas,
e as correntes litorneas que se desenvolvem quando as ondas chegam linha de costa, alm das
mars, atuam ininteruptamente sobre os materiais que se encontram na praia, erodindo, transpor-
tando e depositando sedimentos.
Conforme a sua exposio s ondas de maior energia, as praias podem assim ser defnidas:
PRAIAS EXPOSTAS
Quando esto totalmente
sujeitas s ondulaes
PRAIAS
SEMI-PROTEGIDAS
Quando apenas parte delas
est sujeita s ondulaes
PRAIAS PROTEGIDAS
Quando no sofrem infuncia
de ondulaes
(
D
A
E
S
Q
.
P
/
D
I
R
.
)
R
O
B
E
R
T
O
L
I
N
S
K
E
R
/
T
E
R
R
A
V
I
R
G
E
M
;
J
O
S
C
A
R
L
O
S
F
E
R
R
E
I
R
A
E
M
A
R
C
U
S
P
O
L
E
T
T
E
Z
O
N
A
C
O
S
T
E
I
R
A
199 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
MAIOR PARTE DA HUMANIDADE
VIVE PERTO DO MAR
Seis em cada dez pessoas no mundo vivem
dentro de um raio de 60 km das guas costeiras
e dois teros das cidades com populaes de 2,5
milhes de pessoas ou mais esto prximas aos
esturios, sujeitos infuncia das mars. A densi-
dade demogrfca mdia da Zona Costeira brasileira
de 87 habitantes por km
2
, cinco vezes superior
mdia nacional, de 17 hab/km
2
. Isso demonstra a
perpetuao de uma tendncia de formao terri-
torial estruturada a partir da costa, tendo o litoral
como centro difusor de frentes povoadoras.
Litoral Estados Costeiros rea Total (km
2
)
Extenso da Zona Relao com litoral
Costeira(km) brasileiro (%)
Amaznico
Amap 142.359 598 8,1
Par 1.246.866 562 7,6
Nordestino
Alagoas 29.107 229 3,1
Bahia 566.979 932 12,7
Cear 145.694 573 7,8
Maranho 329.556 640 8,7
Paraba 53.958 117 1,6
Pernambuco 101.023 187 2,5
Piau 251.273 66 0,9
Rio Grande do Norte 53.167 399 5,4
Sergipe 21.863 163 2,2
Sudeste
Esprito Santo 45.733 392 5,3
Rio de Janeiro 43.653 636 8,6
So Paulo 248.256 622 8,5
Sul
Paran 199.324 98 1,3
Santa Catarina 95.318 531 7,2
Rio Grande do Sul 280.674 622 8,5
Brasil 8.511.965 7.367 100
ZONA COSTEIRA NOS ESTADOS
Assim, verifca-se que a Zona Costeira apresenta situ-
aes que exigem tanto aes corretivas como preventivas
para o seu planejamento e gesto, com o fm de atingir
padres de desenvolvimento sustentvel. Cabe salientar
que o Brasil possui atualmente cerca de 57% dos municpios
costeiros com populao superior a 20 mil habitantes (47%
situados na regio Norte; 55% na regio Nordeste; 71% na
regio Sudeste e 46% na regio Sul).
Vrios litorais
Baseando-se em caractersticas geogrfcas, o litoral
brasileiro pode ser dividido em cinco grande regies: Norte,
Nordeste, Leste, Sudeste e Sul.
O litoral Norte, que comea no Amap, composto,
principalmente, por plancies com um regime de macro-
mars (mais de 4 metros de variao). Ao longo da costa,
Z
O
N
A
C
O
S
T
E
I
R
A
200 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
ECOSSISTEMAS COSTEIROS
Os principais ecossistemas associados Zona Costeira incluem
esturios, forestas costeiras, deltas, canais de mar, mangues, ma-
rismas, recifes de coral, dunas frontais, campos de dunas e plancies
de mar. As forestas costeiras podem ser encontradas em trechos
desde Natal, no Rio Grande do Norte, at o Chu, no Rio Grande do
Sul, e, continuamente, desde o Rio de Janeiro at Santa Catarina.
M
Esturios podem ser defnidos como um corpo de gua semi fechado
com uma livre conexo com o oceano, no interior do qual a gua do mar
mensuravelmente diluda pela gua doce da drenagem continental.
So as reas mais ricas da Zona Costeira e que sofrem infuncia direta da
mar. As guas estuarinas tambm so altamente vulnerveis a distrbios
antrpicos, pois a maior parte das megacidades costeiras do mundo est
localizada nestas reas. Logo, estes ambientes esto sujeitos constante
poluio das guas, o que reduz sua capacidade de suporte.
M
Manguezais o manguezal um ecossistema costeiro, tropical,
com vegetao tpica adaptada s condies inspitas do ambiente,
sendo um produtor de bens e servios ambientais gratuito por suas
particularidades. utilizado por inmeras espcies como rea de alimen-
tao e procriao. Entretanto, as reas ocupadas pelo manguezal so
constantemente lesadas, suprimidas e substitudas perante o argumento
de que so pouco rentveis economicamente. Esses danos ambientais
poderiam ser reduzidos e eliminados se, e somente se, a legislao
vigente fosse cumprida e aplicada para todos sem distino.
M
Apicum a poro mais interna do manguezal e funciona como sua
reserva de nutrientes. o apicum que mantm o equilbrio dos nveis de
salinidade e a constncia da quantidade de nutrientes dos manguezais.
M
Marismas semelhana dos manguezais nas regies tropicais, as
marismas representam nas regies temperadas importante fonte de nu-
trientes e de detritos para a cadeia alimentar, alm de abrigo e substrato
para inmeras espcies animais de importncia econmica e ecolgica.
Sua produtividade controlada pela amplitude das mars, salinidade,
grau de inundao, disponibilidade de nutrientes e temperatura, que
determina um ciclo sazonal no desenvolvimento das espcies.
M
Restingas em cada uma das grandes regies da costa brasileira,
ocorrem plancies formadas por sedimentos depositados predominan-
temente em ambientes marinho, continental ou de transio; freqen-
temente, tais plancies esto associadas a desembocaduras de grandes
rios e/ou reentrncias na linha de costa, e podem estar intercaladas por
F
O
T
O
S
:
R
O
B
E
R
T
O
L
I
N
S
K
E
R
/
T
E
R
R
A
V
I
R
G
E
M
Z
O
N
A
C
O
S
T
E
I
R
A
201 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
falsias e costes rochosos. O termo restinga defne o conjunto formado
por essas regies (tambm chamadas de plancies litorneas).
M
Costes Rochosos os locais no litoral dominados por rochas que se
encontram diretamente com o mar so denominados costes rochosos.
Estes ambientes so condicionados pela ao das ondas e mars, que
ao erodirem as partes moles das rochas confguram a paisagem e criam
ambientes propcios para a fxao de uma diversidade de organismos
adaptados a viver neste dinmico ecossistema. Proteger esse ecossistema
no fundamental apenas para conservar os organismos aquticos, mas
tambm para a sobrevivncia das comunidades humanas.
M
Praias as praias arenosas constituem-se num dos ambientes
mais dinmicos da Zona Costeira. So dominadas por ondas e limitadas
internamente pelos nveis mximos da ao das ondas de tempestades e
pelo incio da ocorrncia das dunas ou qualquer outra feio fsiogrfca
brusca. Externamente, so limitadas pela zona de arrebentao. um
ambiente complexo e que se encontra num constante estgio de equi-
lbrio dinmico, conseqncia da interao entre as ondas incidentes na
costa, do transporte de sedimento e da morfologia da praia.
M
Dunas so feies naturais da maioria das praias arenosas do mundo,
as quais recebem contnuos aportes de areia, transportadas pelos ventos
dominantes. O principal papel desempenhado pelo sistema de dunas costei-
ras na manuteno e preservao da integridade da morfologia da costa,
pois atuam como barreiras dinmicas contra ao das ondas e tempestades.
Constituem habitats para numerosas espcies de insetos, rpteis, pequenos
mamferos, e locais de nidifcao de algumas aves marinhas.
M
Recifes so ambientes de fundo consolidado, isto , resistentes
ao de ondas e correntes marinhas. Podem ter origem biognica ou no
e servem de moradia para grande variedade de organismos. Recifes bio-
gnicos os chamados recifes de coral so formados por organismos
marinhos (animais e vegetais) providos de esqueleto calcrio. Os recifes
de coral esto entre os ecossistemas mais ricos em biodiversidade, s
comparveis s exuberantes forestas tropicais, e desenvolvem-se em
reas rasas e quentes. Recifes de origem inorgnica tambm podem ser
de diversos tipos, como os costes rochosos.
M
Pradarias Marinhas so vegetaes que forescem em guas
costeiras protegidas, como esturios, baas ou em recifes de corais. Suas
razes crescem a partir de rizomas que se fxam no fundo dos quais resis-
tem a correntes e movimentos de mars. Estas formam redes intricadas
que auxiliam a reteno de nutrientes e a consolidao do sedimento.
As pradarias marinhas so utilizadas como habitats essenciais, servindo
como reas de alimentao, abrigo, reproduo e de viveiro.
Z
O
N
A
C
O
S
T
E
I
R
A
202 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
O QUE SO OS SAMBAQUIS
Formaes tpicas de amontoados de conchas, ossos, restos de fogueiras e artefatos, misturados areia, os
sambaquis so construes tpicas de comunidades que viveram de 1,5 mil a 8 mil anos, e podem chegar a uma
altura de 30 metros, alm de ocupar uma rea que alcana alguns hectares, espalhados por praticamente todo o
litoral, incluindo a rea do baixo Amazonas.
So particularmente mais numerosos na regio de Santa Catarina, onde esto os mais antigos e bem preser-
vados sambaquis do Pas. Mas essas construes no so exclusivas do Brasil. As primeiras foram estudadas na
Noruega e eram vistas como um monte de lixo. Hoje, existem registros no Chile, na costa do Pacfco, no Canad,
no Japo e em vrias outras reas litorneas possvel encontrar construes semelhantes. As sociedades dos
sambaquieiros eram mais sedentrias que os tradicionais caadores-coletores. Peixes eram a base de sua alimen-
tao, mas berbiges (molusco da espcie Anomalocardia brasilensis), moluscos, crustceos, vegetais e pequenas
caas tambm compunham sua dieta.
Apesar do nmero de sambaquis existentes no Brasil no ser consenso entre os arquelogos, possvel que
possam passar de mil, sendo que a maioria tem cerca de 4 mil anos. Muito se especula sobre o desaparecimento
dos sambaquieiros, mas poucas so as certezas. Uma das hipteses diz que o contato com outras culturas, como a
dos Guarani grupo de ceramistas, blicos ou Carij, poderia t-los exterminado em lutas, semelhante ao que
ocorreu com muitas comunidades aps a chegada dos europeus ao Brasil.
VOC SABIA?
M
O veraneio pode ser descrito como uma
modalidade de lazer familiar caracterizado pelo
uso eventual, no vero e fns de semana, de
unidades uni ou multifamiliares edifcadas em
parcelamentos urbanos, prximos praia, e que
permanecem fechados a maior parte do ano. O
veraneio o principal fator de expanso urbana
e de ocupao territorial intensa nos municpios
litorneos no industrializados no Brasil. Devido
ao veraneio, a populao pode aumentar exces-
sivamente (chegando a 10 vezes ou mais) em
alguns municpios costeiros do Brasil. Tal fato
induz a uma ocupao territorial desordenada
que causa uma srie de problemas ambientais
os quais, se no gerenciados corretamente,
acabam por inviabilizar a prpria explorao
deste patrimnio natural, impedindo assim o
desenvolvimento sustentvel.
freqente a ocorrncia de esturios, com predominncia de
plancies de mar lamosas ocupadas por mangues, os quais
so seguidos de marismas costeiros medida que penetram
continente adentro.
O litoral do Nordeste caracterizado pela mdia
mar e pode ser subdividido em duas partes. A primeira,
que vai da Baa de So Marcos (Maranho) at o Cabo do
Calcanhar (Rio Grande do Norte), semi-rida e dominada
por campos de dunas e falsias. Plancies costeiras e siste-
mas de ilhas de barreira ocupam pequenas reas. Outras
caractersticas comuns so os mangues nas margens dos
poucos esturios e falsias no lado da barreira prxima
ao mar. Na segunda poro, ocorre a chamada Costa dos
Tabuleiros, devido presena de formaes sedimentares
(rochas) que lembram o formato de tabuleiros. Ao redor
dos principais sistemas fluviais, lagoas costeiras com
mangues bastante desenvolvidos ocupam as plancies
costeiras e falsias retrabalhadas pelo vento sudeste, que
produzem campos de dunas.
Ao longo da costa da regio Leste, da Baa de Todos os
Santos (cidade de Salvador) at Cabo Frio (no Rio de Janeiro),
elevados penhascos alternam-se com plancies costeiras
Z
O
N
A
C
O
S
T
E
I
R
A
203 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
PERSONAGEM
JORGE AMADO (1912-2001)
Um dos escritores brasileiros mais conhecidos no
Brasil e no exterior, Jorge Amado teve a costa brasileira
sobretudo na Bahia como parte importante de sua
obra. A chamada Costa do Cacau, no litoral baiano,
ganhou personagens pitorescos com sua literatura.
Mistura de fco e realidade, esses habitantes en-
cantam a terra dos orixs, de gabrielas, do cacau, das
praias quase virgens, de uma bela aurora abenoada
pelas guas do litoral.
O mar de Iemanj, o cacau e as belezas do lito-
ral, no entanto, so apenas partes de sua trajetria
militante e diversifcada. De Itabuna, cidade natal, foi
para Ilhus, onde passou sua infncia. Fez seus
estudos secundrios em Salvador e, em
1931, ingressou na Faculdade de
Direito do Rio de Janeiro. Militante
comunista, exilou-se na Argentina e
no Uruguai entre 1941 e 1942. Em
1945, foi eleito o deputado federal
mais votado do estado de So Paulo
e autor da lei, em vigor ainda
hoje, que assegura o direi-
to liberdade de culto
religioso. Tambm ganhou
prmios; foi membro da Academia
Brasileira de Letras e da Academia
de Letras da Bahia; estreou sua obra no cinema com o
campeo de bilheteria Dona Flor e seus Dois Maridos,
dirigido por Bruno Barreto. Em 1987, inaugurada a
Fundao Casa de Jorge Amado, cujo smbolo um
Exu desenhado pelo artista Caryb.
"Agora eu quero contar as histrias da beira do cais
da Bahia. (...) Eu as ouvi nas noites de lua no cais do
Mercado, nas feiras, nos pequenos portos do Recncavo
(...). O povo de Iemanj tem muito que contar". assim
que Jorge Amado comea Mar Morto (1936), a histria
de Guma, criana criada no cais da Bahia, e de seu amor
por Lvia, que, depois da morte do amado, torna-se ela
mesma mestra de saveiro. Foi dos devaneios marinhos
deste livro que Dorival Caymmi pescou palavras para
compor a cano doce morrer no mar.
Dentre seus romances mais marcantes, Tieta do
Agreste, publicado em 1977 (dcada do avano da
indstria petroqumica na Bahia), recria a vida cotidiana
em uma pequena cidade do litoral norte, prxima
regio de Mangue Seco. A paz, a vegetao, as dunas e
as praias da pequena cidade se transformam em alvo
de uma empresa poluidora, a Brastnio.
nesse horizonte que se movem os
personagens, sobretudo Tieta - a
pastora de cabras que fzera fortuna
em So Paulo gerenciando moas
para polticos e empresrios, e
que agora retorna Bahia,
buscando um paraso
que v se perder.
Jorge Amado, quase
cego e privado do que mais
gostava (de escrever, ler um bom
livro e de um bom prato) falece em 2001,
deixando para a literatura brasileira essas e outras
histrias como Cacau (1933), Capites da Areia (1937),
Gabriela Cravo e Canela (1958), Tocaia Grande (1984),
Teresa Batista Cansada de Guerra (1972).
SAIBA MAIS Fundao Casa Jorge Amado (www.
fundacaojorgeamado.com.br).
SOCIOAMBIENTAL SE ESCREVE JUNTO
I
L
U
S
T
R
A
O
C
A
R
L
O
S
M
A
T
U
C
K
Z
O
N
A
C
O
S
T
E
I
R
A
204 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
* Professora da Universidade Federal da Bahia
** Professor da Universidade Federal do Recncavo da Bahia
O RECNCAVO DA BAA DE TODOS OS SANTOS
MARIA DE AZEVEDO BRANDO* E PAULO MIGUEZ**
Mal sabiam os tripulantes das trs igaraus
(canoas grandes, na lngua tupinamb) que, em 1o
de novembro de 1501, ao cruzarem a Baa de Todos
Santos, estavam pondo os olhos nas terras que viriam
a receber o primeiro complexo urbano das Amricas.
Como assinala Milton Santos, em A rede urbana
do Recncavo ... o Recncavo sempre foi mais um
conceito histrico do que uma unidade fsica ... sua
unidade provinha das relaes mantidas de longa data
entre suas vrias pores com vocao e atividade di-
ferentes (Recncavo canavieiro, Recncavo fumageiro,
Recncavo mandioqueiro e da cermica, sem falar nas
zonas pesqueiras e do Recncavo ao norte da Cidade,
servindo-a de lenha e carvo).
Extratos do texto de Maria A. Brando Cidade
Recncavo da Bahia, resumem dados sobre essa regio:
Com cerca de 1.000 km2 de superfcie, a est a Baa de
Todos os Santos, a maior da costa brasileira, com 35
ilhas, em torno da qual formara-se um complexo scio-
econmico centrado na produo e exportao do acar
e do tabaco; incluindo outras atividades, distribudas por
mais de 16.000 km2 se considerada a faixa costeira ao
sul da Baa de Todos os Santos at a Baa de Camamu,
como produtora de alimentos e materiais de construo.
Surgem da o mais extenso parque de arquitetura barro-
ca do Pas, um importante ncleo de cultura lusa e uma
vigorosa comunidade africano-brasileira.
Por quatro sculos, a Cidade do Salvador teve por
regio o Recncavo. Mas a partir da segunda metade do
sculo XIX, , o Recncavo perdeu progressivamente sua
antiga importncia econmica e poltica e terminou por
isolar-se dos processos que marcaram a vida nacional.
No fnal da dcada de 1940, a instalao da Chesf
signifcou a oferta abundante de energia. Segue-se a
criao da Petrobrs, com seus campos de pesquisa e
extrao. Com isso, abre-se um novo ciclo de atividades.
Em 1950, instala-se a Refnaria Laudulpho Alves, em
Mataripe. Em 1957, cria-se um terminal martimo na
ilha de Madre de Deus. O povoado de Candeias, vizinho
de Mataripe, e a Vila de So Francisco do Conde, um dos
centros do complexo da cana, ambos no arco norte da
Baa de Todos os Santos crescem exponencialmente,
tornando-se residncia do novo operariado e base de
operao de frmas sub-contratadas pela Petrobrs.
Desaparece progressivamente a navegao fuvial e
costeira. Apesar de sua estrutura gigantesca e de seu
papel nas transformaes do sistema virio, a Petrobrs
se mostraria incapaz de revitalizar a regio. As cidades
histricas de So Flix, Maragogipe, Santo Amaro,
Cachoeira, Nazar, Jaguaribe, com seus casares e
templos, continuaram a esvaziar-se.
Mas a paisagem da regio manteve-se de certo
modo intacta. Porm, depois de 1950, a expanso da
rede rodoviria nacional e a integrao do mercado
interno terminariam por marginalizar os velhos centros
de produo regional. Na dcada de 1960, o Governo do
Estado cria, na parte norte do Recncavo, o Centro Indus-
trial de Aratu (CIA), com incentivos fscais da Sudene.
Os investimentos pouco vm, mas a partir dos anos de
1970, com a criao de um rgo de gesto metropo-
litana da Capital (Conder), aumenta a segmentao
entre Salvador e o Recncavo, que perdeu varias ilhas,
os municpios petroleiros de Candeias, So Francisco do
Conde e Madre de Deus e os municpios vizinhos e ao
norte de Salvador. Mais tarde, instala-se, prximo ao CIA,
o Complexo Petroqumico de Camaari. Mais uma vez,
consolidam-se novas atividades sem articulao com a
cultura e os processos econmicos da regio.
Por sua vez, a poluio hdrica e atmosfrica j tem
produzido episdios intolerveis, entre os quais um lon-
C AR TO P OS TAL AME A ADO
Z
O
N
A
C
O
S
T
E
I
R
A
205 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
go vazamento de mercrio nas guas da Baa de Todos
os Santos desde 1968 a 1980. Em 2007, uma grande
descarga de guas doces, ocasionou o que se chamou
de mar vermelha. Segundo o bilogo Ronan Cares de
Brito, o fenmeno pode ter sido causado pela abertura
das comportas da barragem de Pedra do Cavalo, no baixo
Paraguau. Os sedimentos do fundo da barragem, que
contm micronutrientes, teriam sido despejados na Baa
e servido de alimento para as algas, que proliferaram.
A mar calma, o sol forte e as temperaturas elevadas
teriam agravado o fenmeno, que causou grande
mortandade de peixes. Porm, problemas graves de
saneamento e de impactos industriais em uma escala
perigosa ameaam a qualidade ambiental de toda a
regio, insiste Ronan. A desinformao e a falta de
polticas de urbanizao e monitoramento ambiental
comprometem o patrimnio histrico e contribuem para
a instalao de cidades e vilarejos insustentveis.
Recompor a velha paisagem do Recncavo
impossvel. Porm certamente ser possvel, afrma o
texto de M. A. Brando, construir uma nova concepo
de desenvolvimento e organizao territorial, a partir
da qual se possa assegurar um melhor equilbrio
ambiental rea, melhores condies de vida e a
afrmao cultural de Salvador e sua regio. O tempo
este, o de agora, para o enfrentamento deste desafo,
que no pequeno. que o velho Recncavo entra
no sculo XXI passando a contar com a recm criada
Universidade Federal do Recncavo da Bahia, ator
social de quem se espera engenho, vontade e capa-
cidade de articular diferentes agentes relacionados
com a regio.
SAIBA MAIS Brando, Maria de Azevedo. Cidade
e Recncavo da Bahia. In: Brando. M. A. (Org.) Re-
cncavo da Bahia: sociedade e economia em tran-
sio. Salvador: Fundao Casa de Jorge Amado,
Academia de Letras da Bahia; UFBA, 1998. p.27-58;
_______. Planejar qualidade: em favor do siste-
mas urbano-regionais. Bahia Anlise e Dados, v.12,
n.2, set. de 2002, p.179-194. Brito, Ronan Cares de.
Programa de Desenvolvimento Sustentvel da Baa
de Todos os Santos e do seu Recncavo: bases para a
sua implementao. Salvador; UFBA, 2006. Mmeo;
_______. Comunicao Tcnica. Fundao Onda-
zul, 2007 (www.ondazul.org.br); Santos, Milton. A
rede urbana do Recncavo. In: Brando, M.A. (Org).
op. cit, p.59-100.
R
O
B
E
R
T
O
L
I
N
S
K
E
R
/
T
E
R
R
A
V
I
R
G
E
M
Poluio do Rio Paraguassu, defronte cidade de Cachoeira (1998).
Z
O
N
A
C
O
S
T
E
I
R
A
206 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
PROJETO TAMAR
O nome Tamar foi criado a partir da contrao
das palavras tartaruga marinha. A abreviao se
mostrou necessria ainda no incio dos anos 1980, para
a confeco das pequenas placas de metal utilizadas
na identifcao das tartarugas marcadas pelo Projeto
para estudos de biometria, monitoramento das rotas
migratrias e outros.
Desde ento, o Projeto Tamar passou a designar o
Programa Brasileiro de Conservao das Tartarugas Ma-
rinhas, que executado pelo Ibama, atravs do Centro
Brasileiro de Proteo e Pesquisa das Tartarugas Marinhas
(Centro Tamar-Ibama), rgo governamental; e pela
Fundao Centro Brasileiro de Proteo e Pesquisas das
Tartarugas Marinhas (Fundao Pr-Tamar), instituio
no-governamental, de utilidade pblica federal.
O Tamar tem coletado, ao longo de 27 anos de atua-
o, dados que subsidiam pesquisas e que so indicado-
res dos resultados obtidos, sendo que o primeiro deles
o cumprimento da misso de proteger as cinco espcies
de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil.
Abordando a conservao como uma questo
biolgica que tambm depende de componentes
sociais, culturais e econmicos, o Tamar tem cumprido
sua misso, portanto, graas principalmente ao envol-
vimento comunitrio, atravs da educao ambiental e
da gerao de servios e renda.
Em sntese, a anlise dos dados evidencia que a
conservao das tartarugas marinhas gera benefcios a
todos os que com ela contribuem, sejam membros das
comunidades costeiras, da comunidade cientfca ou
da sociedade em geral, reforando o conceito de que as
tartarugas marinhas valem mais vivas do que mortas.
As tartarugas marinhas, porm, continuam ame-
aadas de extino, o que signifca que fundamental
dar continuidade ao programa de conservao, com o
apoio de todos e para o bem de todos os envolvidos.
Alguns resultados especfcos sobre a conservao
das tartarugas marinhas:
M
Aumento gradual do nmero de flhotes liberados
ao mar, ao longo dos anos de atuao do Tamar/Ibama,
totalizando, at 2007, mais de 8 milhes de flhotes
protegidos.
M
As atividades de proteo e manejo das tartarugas
marinhas envolvem mais de 1.200 pessoas, 85% delas
moradoras das comunidades costeiras onde o Tamar
mantm suas bases, proporcionando melhorias na qua-
lidade de vida dessas populaes atravs principalmente
da gerao de renda e do resgate de tradies culturais.
M
A sistematizao dos conhecimentos gerados resul-
tou, at o momento, em mais de 350 artigos cientfcos,
publicados nos principais eventos e reunies cientfcas
realizados no Brasil e no exterior, alm de revistas e
peridicos especializados.
M
H ainda o Banco de Dados do Projeto Tamar, com
registros reprodutivos, no reprodutivos e relacionados
ao Plano Tamar-Pesca, que vm sendo disponibilizados
comunidade cientfca atravs das publicaes em
revistas especializadas e esto listados no link http://
www.projetotamar.org.br/publi.asp.
Existem sete espcies de tartarugas marinhas, agru-
padas em duas famlias a das Dermochelyidae e a das
Cheloniidae. Dessas, cinco so encontradas no Brasil:
M
Tartaruga-cabeuda (Caretta caretta);
M
Tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata);
M
Tartaruga-verde ou aruan (Chelonia mydas);
M
Tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea);
M
Tartaruga-gigante ou de-couro (Dermochelys
coriacea).
SAIBA MAIS (http://www.tamar.com.br/).
ZOOM
Z
O
N
A
C
O
S
T
E
I
R
A
207 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
Prosa & Verso
O Mar
O mar
Quando quebra na praia
bonito, bonito
O mar
Quanta gente perdeu seus maridos, seus flhos
Nas ondas do mar
O mar
Pedro vivia da pesca
Saa no barco seis horas da tarde
S vinha na hora do sol raiar
Todos gostavam de Pedro
E mais do que todos, Rosinha de Chica
A mais bonitinha e mais benfeitinha
De todas as mocinhas l do Arraia
Pedro saiu no seu barco seis horas da tarde
Passou toda a noite e no veio na hora do sol raiar
Deram com o corpo de Pedro jogado na praia
Rodo de peixe, sem barco, sem nada
Num canto bem longe l do Arraia
Pobre Rosinha de Chica
Que era bonita e agora parece que endoideceu
Vive na beira da praia olhando pra ondas
Andando, rondando, dizendo baixinho:
Morreu, morreu
Morreu, oh,
O mar
Quando quebra na praia
bonito, bonito.
(Dorival Caymmi)
bastante desenvolvidas. Os esturios das plancies costeiras
de rios e lagoas costeiros so colonizados por mangues.
Campos de dunas arenosas cobrem amplos terraos. Cabe
ressaltar que a plataforma continental nesse setor costeiro
diminuta, no chegando a mais de 8 km.
A costa Sudeste, de Cabo Frio (RJ) ao Cabo de Santa
Marta (SC), dominada por serras constitudas por rochas do
embasamento cristalino (Serra do Mar). O contato com o mar
abrupto, sob a forma de penhascos, e existem freqentes
promontrios rochosos, alternando-se com baas, cuja
formao foi controlada por atividade tectnica. Embora
reduzidas, as plancies costeiras ocorrem na desembocadura
de alguns sistemas fuviais. A maior rea preservada da Mata
Atlntica encontra-se nesse setor. O extremo sul dessa rea
tambm representa o limite dos sistemas de manguezais
na costa brasileira.
A costa da regio Sul, compreende o Cabo de Santa
Marta (SC) at o Chu (RS), possuindo cerca de 740 km de
extenso, sendo parte de uma vasta plancie costeira, atin-
gindo 120 km de largura em certos pontos. A maior parte
da costa uma longa ilha-barreira mltipla (640 km), a qual
separada do continente por um grande sistema lagunar
constitudo principalmente pelas lagoas dos Patos, Mirim,
Mangueira, Quadros e Peixe.
Ameaas
Assim como a geografa, os impactos da ocupao hu-
mana variam conforme a regio litornea. Na regio Norte,
os maiores impactos ao litoral brasileiro esto associados
ao desmatamento e aos aterros de manguezais, devidos
ocupao urbana. Outros problemas esto associados
pesca descontrolada e degradao da qualidade da
gua por esgotos, o que causa a poluio de rios, crregos
e do lenol fretico. Esses problemas so encontrados ao
longo de toda a costa brasileira, com exceo daqueles
relacionados com os manguezais, que no ocorrem no
segmento Sul.
No Nordeste, destaca-se tambm a eroso natural
e aquela causada pela ao do homem, a minerao
costeira (areia, minerais pesados, carbonato de clcio) e a
destruio de manguezais, os quais so substitudos pela
maricultura. A eroso costeira na rea metropolitana de
Recife notvel, principalmente em razo da alta taxa de
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
R
O
B
E
R
T
O
L
I
N
S
K
E
R
208
ZONA COSTEIRA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Litoral prximo de Bitupit (CE). Batendo os moures nos currais de pesca. Cada um tem o seu dono, a quem here-
ditariamente pertence o cho de curral (acima); Praia de Cambury (SP/RJ). Pescador visita a rede, despesca alguns
exemplares e os joga no fundo de sua canoa. A forte especulao imobiliria em todo o litoral paulista e fuminense
torna cada vez mais rara esta cena. Nas palavras de seu Maneco, morador de Martim de S: Se hoje juntar todos ns,
caiaras, no d pra comprar um nico lote nas Laranjeiras, que sempre foi o nosso porto mais seguro (abaixo).
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
R
O
B
E
R
T
O
L
I
N
S
K
E
R
209
ZONA COSTEIRA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
ROBERTO LINSKER
Nascido em 1964. Formado
em Geologia pelo IGC-USP.
Diretor daTerraVirgem
Produes Culturais, atua
como editor, coordenador
e fotgrafo de projetos
como Srie Brasil Aventura
(6 volumes), Cuidados pela
Vida (5 volumes) e Tempos
do Brasil (3 volumes) entre
outros. O ensaio fotogra-
fco sobre a Zona Costeira
parte integrante do livro
Mar de Homens da Terra Vir-
gem Editora. Trabalhou na
organizao de expedies
nacionais e internacionais
de 1987 a 1992, realizando
documentao fotogrfca
e reportagens para jornais
e revistas. Eventualmente
ainda colabora com fotos e
textos, em diversas publica-
es nacionais.
Bitupit (CE). Duzentos
metros separam estes ho-
mens do seu local de tra-
balho, o mar. No retorno,
se a jornada foi feliz, eles
vm carregados de peixes
(alto); Majorlndia (CE). O
pescador retorna da sua
jornada no mar e arrasta a
sua caoeira ou paquete
at um local seguro con-
tra os embates da mar
(centro). Canoa Quebrada
(CE). O pescador segura o
pequeno trofu do seu dia
de arrasto: uma pequena
arraia-pintada (ao lado).
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
R
O
B
E
R
T
O
L
I
N
S
K
E
R
210
ZONA COSTEIRA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Cabeo, Foz do Rio So Francisco (SE/AL). O farol antes f-
cava um quilmetro terra adentro. No incio, houve quem
acordou no meio da noite e caiu na gua que batia acima
do joelho (alto, esq.); Bitupit (CE). Quando o peixe abun-
dante, nem sempre o pescador ganha mais. Muitas vezes
o comprador, sabendo da difculdade de conservao,
arremata grandes quantidades de peixe por preos muito
baixos (alto, dir.); Mamanguape (PB). Pititingas expostas
ao sol. Muitas vezes por absoluta precariedade ou pela
difculdade de transporte e escoamento, o excedente s
pode ser preservado com sal e sol. (acima); Ilha de Bateven-
to, Reentrncias Maranhenses (MA). Depois de duas horas
pegando caranguejos, aqui est o resultado. Em dias de
sol, possvel faturar at 10 reais por jornada. (ao lado)
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
R
O
B
E
R
T
O
L
I
N
S
K
E
R
211
ZONA COSTEIRA
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
Foz do Rio So Francisco (SE/AL). No arrasto, surpresas agradveis surgem ocasionalmente nas malhas das redes. (acima);
Ilha do Cardoso (SP). Canoas parecidas com as que sulcavam os mares tupinambs do sculo XVI ainda so vistas com
freqncia como no relato de Hans Staden. Ao entardecer, os pescadores partem da praia de Maruj, retornando s suas
moradias em outras praias da ilha (abaixo).
Z
O
N
A
C
O
S
T
E
I
R
A
212 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
UM P DE QU ?
com o dend. Os africanos usavam, e ainda usam, o
coqueiro em todos os seus aspectos, como alimento,
construo de casas. Danas populares, como a ciran-
da, eram originalmente realizadas embaixo dos ps de
coqueiro. O mar, os africanos ou os portugueses, quem
quer que tenha trazido o primeiro coqueiro, fez isso
h muito tempo. Existem registros de que, durante
a ocupao holandesa em Pernambuco, no sculo
XVII, Maurcio de Nassau transplantou 700 coqueiros
j grandes para decorar os jardins do palcio que ele
estava construindo. Eram coqueiros centenrios, o que
quer dizer que eles j estavam aqui no sculo XVI.
Alm de decorar, matar a sede e alimentar, o
coqueiro ainda tem mil e uma utilidades. Por isso
ele chamado de boi-vegetal em alguns pases e
rvore da vida em outros. Tudo nele aproveitado.
Com as razes e as fores, faz-se remdio. Da seiva,
d para tirar vinho, vinagre e acar. Com o leo do
coco, voc faz cera, vela, sabo. Com o tronco, pode
fazer uma balsa ou uma casa. Com as folhas, voc
cobre a casa que fez com os troncos, ou faz umas
cestinhas, uma esteira, um chapu. Dentro do coco
tem o endosperma. Quando ele est lquido
voc bebe, quando est slido, come.
Com a parte fbrosa da casca,
o mesocarpo, voc faz cordas,
tapetes, redes, vassouras,
escovas at o recheio do
banco do seu carro feito
com isso. E com a parte
entre o interior e a fbra, a
parte mais durinha, voc pode
fazer o famoso coquinho. com
o coquinho que toda a criana
tem o seu primeiro contato
com a msica.
SAIBA MAIS Pindorama Filmes (www.
pindoramaflmes.com.br; www.futura.org.br).
COQUEIRO
Coco-da-bahia, Coqueiro de Itapu, ou ser o
Coqueiro Velho? Na verdade pode ser o-coqueiro-
que-d-cco-onde-amarro-minha-rede-nas-noites-
claras-de-luar. Todo mundo fala das mil utilidades
do coco, mas a principal delas mesmo dar pinta em
msica brasileira.
Apesar dele ser assim to baiano, a origem do
coqueiro incerta. Ele uma rvore to antiga que
ningum sabe dizer onde ele nasceu realmente. Pode
ser das Filipinas, Malsia, da ndia, da Nova Zelndia,
Amrica Central. E em cada um desses lugares voc vai
ouvir algum dizer categoricamente: o coqueiro nos-
so! Na ndia, por exemplo, foram encontrados vestgios
de coqueiros de mais de 15 milhes de anos.
Recapitulando: no sabemos de onde veio o
primeiro coqueiro. Para complicar ainda mais, existe a
teoria de que o coqueiro no foi trazido para o Brasil por
ningum. Veio a nado. O coco, que a semente do co-
queiro, pode boiar por mais de 40 dias, tempo sufciente
para uma corrente marinha qualquer empurrar o coco
do outro lado do mundo at nossas praias.
Segundo alguns historiadores, o fato de
todos os coqueirais nas paisagens do Brasil
antigo - e os existentes at hoje - serem as-
sim simtricos, um do lado
do outro, uma prova de
que ele foi mesmo trazido e
plantado pelo homem.
Isso quer dizer que
quando Cabral chegou
aqui, em 1500, no viu nenhum co-
queiro. Isso quer dizer tambm que
qualquer coqueiro que voc tenha
visto aqui veio de um coqueiro
ancestral, trazido e plantado por
um homem. Mas quem?
H quem diga que foram os africanos
que trouxeram o coco no poro dos navios, junto
I
L
U
S
T
R
A
O
R
U
B
E
N
S
M
A
T
U
C
K
Z
O
N
A
C
O
S
T
E
I
R
A
213 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
VOC SABIA?
M
O menor litoral do Brasil o do Piau com
apenas 66 km de extenso. No sculo XX, um
acordo de cavalheiros com o Cear permitiu
que o Piau ganhasse um litoral, em troca de
algumas terras ao sul do Estado.
M
Atualmente a principal causa de degradao
dos mangues o cultivo de camares.
M
A Ilha de Fernando de Noronha foi uma
colnia penal do sculo XVIII at a dcada de
1970. A Ilha Anchieta, localizada no litoral de
So Paulo, foi a cadeia dos dissidentes de Getlio
Vargas nos anos 1930.
M
A Bahia possui o maior litoral do Brasil, com
932 km de extenso.
M
O maior porto da Amrica Latina o de
Santos, no litoral paulista, com capacidade para
receber at 53 navios.
M
O Forte So Joo de Bertioga, em So Paulo,
foi construdo, em 1547, com uma argamassa
de leo de baleia. Usaram o equivalente a
400 baleias para levantar a grossa muralha,
capaz de resistir ao impacto de balas de grosso
calibre.
M
O Farol de Santa Marta considerado o
maior das Amricas e o terceiro do mundo em
alcance, distante 17 km do centro do municpio
de Laguna, sul de Santa Catarina.
M
So Vicente, no litoral paulista, a cidade
mais antiga do Brasil.
M
O Brasil o segundo pas no mundo em
extenso de manguezais, superado apenas
pela Indonsia.
M
Em 1979, foi criada a primeira unidade de
conservao federal localizada no mar, a Reserva
Biolgica do Atol das Rocas, o nico atol de todo
Atlntico Sul.
M
O primeiro Parque Nacional Marinho do Brasil
foi criado em 1983: o Parque Nacional Marinho
dos Abrolhos.
PATRIMNIO NACIONAL
A Zona Costeira brasileira considerada
patrimnio nacional pela Constituio de 1988
corresponde ao espao geogrfco de interao
do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos
renovveis ou no, abrangendo uma faixa mar-
tima e uma faixa terrestre. Segundo o Decreto
5.300/04 que regulamenta a Lei de Gerencia-
mento Costeiro, a Zona Costeira brasileira tem
os seguintes limites:
I - faixa martima: espao que se estende
por doze milhas nuticas, medido a partir
das linhas de base, compreendendo, dessa
forma, a totalidade do mar territorial;
II - faixa terrestre: espao compreendido
pelos limites dos municpios que sofrem
infuncia direta dos fenmenos ocorrentes
na Zona Costeira.
Os municpios abrangidos pela faixa terrestre
da Zona Costeira esto assim classifcados:
I - defrontantes com o mar, assim defnidos
em listagem estabelecida pela Fundao
Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica
- IBGE;
II - no defrontantes com o mar, localizados
nas regies metropolitanas litorneas;
III - no defrontantes com o mar, contguos s
capitais e s grandes cidades litorneas, que
apresentem conurbao;
IV - no defrontantes com o mar, distantes
at 50 quilmetros da linha da costa, que
contemplem, em seu territrio, atividades
ou infra-estruturas de grande impacto
ambiental na Zona Costeira ou ecossistemas
costeiros de alta relevncia;
V - estuarino-lagunares, mesmo que no
diretamente defrontantes com o mar;
VI - no defrontantes com o mar, mas que te-
nham todos os seus limites com municpios
referidos nos itens I a V.
Z
O
N
A
C
O
S
T
E
I
R
A
214 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
AMBIENTES
MSICA DO LITORAL
GUSTAVO PACHECO
A riqueza da msica da Zona Costeira bra-
sileira refete a grande diversidade fsica dessa
regio. Nela esto concentrados no s a maior
parte da msica produzida nos grandes centros
urbanos, mas tambm muitos gneros musicais
realizados por populaes tradicionais que
habitam praias, ilhas, restingas e manguezais.
Pode ser msica para danar que sirva como
diverso para comunidades de pescadores,
como o coco-de-roda paraibano ou o carimb
paraense; ou expresses de fundo religioso, como
as bandas de congo e o ticumbi das comunidades
negras do litoral capixaba; ou ainda folguedos
como o boi-de-mamo, verso catarinense das
brincadeiras de boi presentes em todo o Brasil
(ver A identidade brasileira atravs da
msica, pg. 68).
RECEITA LITORNEA
Bob de Camaro
1 kg de mandioca sem casca e sem fo
1 kg de camares mdios
1 litro de gua
1 colher (sobremesa) de alho amassado
1 cebola batidinha
3 colheres (sopa) de azeite
4 colheres (sopa) de azeite de dend
4 tomates sem pele e sem semente
3 colheres (sobremesa) de molho de pimenta
pimento vermelho picado
pimento verde picado
1/3 xcara (ch) de coentro, salsa e cebolinha
picados
100 g de castanhas-do-par descascadas
200 ml de leite de coco
sal a gosto
M
Limpe os camares, reservando a casca.
Ferva em um litro de gua por cinco minutos,
retire do fogo e tire as cascas.
M
No caldo dos camares, cozinhe (em panela
de presso) por 20 minutos a mandioca descas-
cada e cortada em pequenos pedaos.
M
Bata a mandioca com a castanha-do-par
no liquidifcador, acrescentando um pouco de
gua se necessrio.
M
Doure a cebola e o alho no azeite de dend
misturado ao azeite de oliva. Acrescente os
pimentes verde e vermelho e deixe amole-
cerem. Junte os tomates, molho de pimenta,
o sal, a salsa, o coentro e a cebolinha. Acres-
cente o camaro e ferva tudo por um minuto.
Misture o pur de mandioca e, por ltimo, o
leite de coco.
M
Corrija o sal e a pimenta e deixe levantar
fervura por mais um minuto, mexendo sem
parar para no grudar no fundo da panela.
M
Sirva quente, com arroz branco.
ocupao urbana ao longo da costa do Estado. As frias de
vero ou o fenmeno do veraneio e o turismo aumentam
o nvel de perturbao ambiental em toda a Zona Costeira
brasileira. Ainda na costa de Pernambuco, a urbanizao
de reas virgens de falsias e uma grande deposio de
sedimentos em rios e baas, devido ao desmatamento,
geram impactos importantes.
Entre os problemas especfcos do Sudeste, esto as
inundaes costeiras ao longo de rios, eroses pluviais
devido falta de planejamento de balnerios urbanizados,
confitos entre usurios (atividade pesqueira versus turis-
mo), eroso localizada causada por tempestades, que afeta
diretamente reas urbanizadas localizadas muito prximas
da zona ativa da praia, assim como a poluio de lagoas
costeiras devido minerao de carvo.
A pesca descontrolada, a contaminao, especialmente
pela indstria e agricultura, a ocupao urbana e a drena-
gem de reas alagadas, a eroso costeira e a minerao
de areia so os principais problemas associados regio
localizada mais ao sul da costa brasileira.
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
Grande em extenso, rico em ambientes, o Brasil marcado por uma variedade
tnica composta no apenas de gente de origens distintas, mas ainda de milhares
de comunidades nativas, tambm muito diferentes entre si. A populao brasileira
aumentou dez vezes no sculo XX e cresce menos no incio do XXI. Se grande parte
considera-se branca, a maioria desses brancos tem descendncia paterna europia
(90%) e materna africana (60%). O Pas abriga cerca de 225 povos indgenas e inme-
ros outros (quilombolas, caboclos, extrativistas etc), que se caracterizam por traos
culturais, tnicos ou econmicos peculiares. Em comum, eles vivem na periferia da
sociedade nacional. Os povos tradicionais resguardaram at agora territrios prprios
e estratgias alternativas de uso da terra e dos recursos naturais. O acesso a esses
espaos e saberes foi condicionado por laos de parentesco, compadrio ou vizinhana,
por uma histria e uma memria partilhadas. Ao longo do tempo, tais grupos no
s protegeram os ecossistemas, como podem ter contribudo, por meio de suas pr-
ticas, para sua diversidade. O DNA e a biodiversidade do Pas so expresses dessa
multiplicidade, como aponta este captulo sobre a Diversidade Socioambiental.
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 215
Populao Brasileira, pg. 216
Populaes Tradicionais, pg. 223
Povos Indgenas, pg. 226
Quilombolas, pg. 234
Direito Socioambiental, pg. 236
Processos da Diversidade
Biolgica, pg. 241
Fauna, pg. 243
Flora, pg. 249
Recursos Genticos, pg. 254
Biosssegurana, pg. 258
reas Protegidas, pg. 261
Bens Culturais, pg. 270
P
O
P
U
L
A
O
B
R
A
S
I
L
E
I
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
216
POPULAO BRASILEIRA
ELZA BERQU*
A evoluo demogrfca brasileira vem sendo marcada por transies nos nveis
e tendncias da mortalidade e da natalidade
*Demgrafa, titular da Academia Brasileira de Cincias e do Conselho Tcnico do IBGE,
alm de coordenadora do Programa de Sade Reprodutiva e Sexualidade da Unicamp e da
rea de Populao e Sociedade do Cebrap
O sculo XX testemunhou no Pas um incremento de
quase dez vezes em sua populao: de 17.438.431 pessoas
em 1900, atingiu em 2000 a cifra de 169.799.170 habitantes.
Este crescimento no ocorreu, porm, em ritmo uniforme,
conforme os dados da Tabela 1.
A sistematizao dos dados a partir de 1940 mostra
que a evoluo demogrfca da populao brasileira
vem sendo marcada por transies nos nveis e tendncias
da mortalidade e da natalidade (Grfco 1), uma vez que
a imigrao internacional deixou de ter infuncia a partir
daquela dcada e a sada de brasileiros para o exterior s se
tornou relevante a partir de meados da dcada de 1980.
De fato, no perodo 1940 a 1960, a populao apresentou
um aumento em seu ritmo de crescimento, passando de
2,4% ao ano, na dcada de 1940, para 3% ao ano no decnio
seguinte (Tabela 1). O declnio da mortalidade de 24,4 bitos
por mil habitantes, em 1940, para 14,3, em 1960 (Tabela 2),
da ordem de 70%, foi o responsvel pelo referido aumento
no ritmo de crescimento, uma vez que o nmero mdio de
flhos por mulher se manteve constante em 6,2 no perodo
(Tabela 3).
A partir de 1960, o ritmo anual de crescimento popula-
cional comeou a se desacelerar, passando a 2,9% e 2,5%, nos
decnios 1960-70 e 1970-80, respectivamente. Nesse perodo,
a fecun didade comeou a declinar, chegando a 4,3 flhos por
mulher em 1980, enquanto a mortalidade continuou seu
ritmo descendente anterior, chegando a 7,6 bitos por mil
habitantes. Assim, foi a queda da fecundidade a responsvel
por essa nova etapa da transio demogrfca. No perodo
1980-2000, seu papel continuou decisivo na reduo do
crescimento da populao, o qual atingiu 1,6% ao ano entre
1991 e 2000. De fato, a fecundidade teve, nos ltimos vinte
anos, sua maior reduo, de 45%, passando de 4,4 a 2,4.
Torcida brasileira em um jogo da seleo de futebol, Londrina (PR), 2000.
E
D
U
A
R
D
O
K
N
A
P
P
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
P
O
P
U
L
A
O
B
R
A
S
I
L
E
I
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 217
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
TABELA 1
CRESCIMENTO POPULACIONAL
Mdia anual no Brasil de 1900 a 2000 (em %)
Perodo(*) Taxa de Crescimento
1900-20(**) 2.9
1920-40 1.5
1940-50 2.4
1950-60 3.0
1960-70 2.9
1970-80 2.5
1980-91 1.9
1991-2000 1.6
Fonte: Fundao IBGE. Censos Demogrfcos 1900 a 2000.
(*) O Brasil no realizou censos demogrfcos em 1910 e 1930.
(**) Segundo Giorgio Mortara, houve subenumerao no censo de 1900 e sobrenume-
rao no censo de 1920. Estes dois censos referiram-se populao presente. A partir de
1940, inclusive, todos os censos referem-se populao residente.
GRFICO 1
TRANSIO DEMOGRFICA
Brasil, 1940 a 2000
Fonte: Santos, J.F.L. Medidas de Fecundidade e Mortalidade para o Brasil no sculo XX
(1978), 1940-1970. Fundao IBGE, 1980, 1991 e 2000.
natalidade mortalidade geral crescimento
pulao por emigrao dirigida a outras regies, combinada
com expressiva queda da fecundidade, de 3,7 a 2,7 flhos
por mulher, no mesmo perodo.
Na ltima dcada, o Pas teve aumentado seu grau
de urbanizao, com 81,2% de sua populao vivendo em
cidades, em comparao com os 75,6% correspondentes a
1991. Contrastando a situao atual com aquela registrada em
1940, quando 69% da populao do Pas vivia em reas rurais,
pode-se avaliar o salto em matria de urbanizao nos ltimos
60 anos. Em termos regionais, o Sudeste manteve, em 2000, a
liderana anterior, com 90,5%, e no Norte e no Nordeste, 30%
de suas populaes ainda vivem em reas rurais.
Mais mulheres
Quanto composio por sexo de sua populao, vem
declinando a participao relativa da populao masculina no
Pas. Assim, para cada 100 mulheres havia 98,7, 97,5 e 96,9
homens, respectivamente, em 1980, 1991 e 2000. Este dese-
quilbrio mais acentuado no Brasil urbano, onde as razes de
sexo foram iguais a 95,2, 94,3 e 94,2. J no Brasil rural, ocorre
o oposto, ou seja, um supervit de homens que vem crescendo
ao longo do tempo. Passou de 106,6 em 1980 para 108,3, em
1991 e 109,2, em 2000. Do ponto de vista regional, mantm-
se os fenmenos de supervit de mulheres no urbano e de
homens no rural. Migraes internas e diferenciais em nveis
de mortalidade devem ser evocadas como explicaes para
o desequilbrio entre os sexos na composio da populao
brasileira, referida aos contextos urbanos e rurais.
As transies nos nveis e tendncias da mortalidade
e da fecundidade afetaram diretamente e de forma
signifcativa a estrutura etria da populao (Grfco 2).
Passou-se de uma pirmide de base larga
e forma triangular caracterstica de
regimes demogrfcos com altas taxas de
fecundidade e de mortalidade para uma
outra mais uniforme e de base reduzida
tpica de regimes com grande reduo na
fecundidade. De fato, a base da pirmide
etria de 2000 revela que, pela primeira
vez em um censo no Pas, o nmero de
crianas menores de cinco anos foi inferior
ao daquelas de cinco a dez anos, e este, por sua vez, menor
do que o segmento seguinte, de dez a quinze anos.
Pode-se afrmar, portanto, que nos ltimos 60 anos
as mulheres no Brasil reduziram sua prole, em mdia, em
4 flhos, enquanto houve um ganho de 30 anos, em mdia,
na expectativa de vida ao nascer dos brasileiros.
Do ponto de vista regional, o Norte e o Centro-Oeste
continuaram a liderar as taxas anuais de crescimento, no
perodo 1991-2000, com 2,9% e 2,4%, respectivamente. O
Nordeste, por outro lado, apresentou o menor crescimento
no perodo, ou seja, 1,3%, como resultado de perda de po-
P
O
P
U
L
A
O
B
R
A
S
I
L
E
I
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
218
GRFICO 2
POPULAO RESIDENTE
Brasil, 1900, 1950, 1970 e 2000 , por sexo e grupos de idade
MAIOR PARTE SE CONSIDERA BRANCA
O censo 2000 revelou que 54,6% da populao do Pas se considera branca, 6,3% se declara preta, 39% se
identifca como parda, 0,4% se dizem amarelos e 0,4% se defnem como indgenas.
A anlise temporal da composio por cor ou raa da populao deve levar em conta que esta informao
resulta da auto-identifcao do recenseado frente a categorias pr-codifcadas. O censo de 1940 trabalhou com
as categorias branca, preta e amarela e classifcou como pardos todos os casos que no se inclussem nas trs
categorias. Nos censos de 1950, 60 e 80 (o de 1970 no incluiu o quesito cor ou raa), as categorias foram branca,
preta, parda e amarela e, em 1991 e 2000, foi includa ainda a categoria indgena.
Em uma viso temporal da evoluo da auto-identifcao da populao por cor ou raa nos ltimos 60 anos,
no que se refere s categorias branca, preta e parda, nota-se que a tendncia, a partir de 1940, do crescimento
relativo dos pardos em detrimento da reduo dos brancos e pretos, interrompida em 2000. Este censo surpreendeu
tambm os estudiosos da populao indgena por revelar 734.127 brasileiros auto-identifcados como ndios, o
que signifcou mais do que o dobro do revelado pelo censo 1991.
1900 1950
1970 2000
Fonte: Fundao IBGE, Censos Demogrfcos de 1900, 1950, 1970 e 2000.
Homens Mulheres Homens Mulheres
Homens Mulheres Homens Mulheres
P
O
P
U
L
A
O
B
R
A
S
I
L
E
I
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 219
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
TABELA 2
MORTALIDADE
Brasil de 1940 a 2000 (por mil habitantes)
Anos Taxas
1940 24.4
1950 21.4
1960 14.3
1970 11.4
1980 7.6
1991 7.0
2000 6.5
Fonte: Santos, J.L.F. (1978) Medidas de Fecundidade e Mortalidade para Brasil no sculo
XX, 1940 a 1970. Fundao IBGE, 1980, 1991 e 2000.
TABELA 3
FECUNDIDADE
Brasil de 1940 a 2000 (total)
Anos Taxas
1940 6.2
1950 6.2
1960 6.3
1970 5.8
1980 4.4
1991 2.7
2000 2.4
Fonte: Fundao IBGE, Censos Demogrfcos.
TABELA 4
DISTRIBUIO RELATIVA DA POPULAO
Brasil, 1940 a 2000 (por grandes grupos etrios )
Censos Grupos Etrios
At 14 anos 15 a 64 anos 65 anos ou mais
1940 42.65 54.9 2.4
1950 41.8 55.6 2.6
1960 42.7 54.6 2.7
1970 42.6 54.3 3.1
1980 38.2 57.7 4.0
1991 34.7 60.4 4.8
2000 29.6 64.5 5.8
Fonte: IBGE, Censos Demogrfcos de 1940 a 2000.
Mais idosos
Caracterizado como um pas de populao jovem,
o Brasil apresentou at 1970 uma estrutura etria
praticamente constante, considerando-se de forma sin-
ttica trs grupos etrios: menores de 15 anos, adultos
(15 a 64 anos) e idosos, com 65 anos ou mais (Tabela
4). A partir de ento, e fruto da queda da fecundidade
iniciada em meados dos anos 1960, o grupo de jovens
passou a representar cada vez menos no cmputo geral
da populao, abrindo assim espao para o aumento
da importncia relativa dos idosos. Estes, em nmeros
absolutos, passaram de 7,1 milhes em 1991 para 9,8
milhes no ltimo censo.
A relao idoso/criana, que reflete o grau de en-
velhecimento de uma populao, passou de 10,5%, em
1980, a 19,8%, em 2000, ou seja, para cada 100 crianas
cor res pondem 20 idosos.
Fenmeno j observado em 1998 nos pases mais ricos,
no Brasil estima-se que, a persistirem as tendncias atuais,
em nmeros absolutos, os idosos superaro os jovens por
volta de 2040.
As mudanas na estrutura etria afetam tambm as ra-
zes de dependncia, ou seja, a relao da soma do nmero
de crianas e idosos, para o nmero de pessoas em idade
de trabalhar (15 a 64). Esta razo vem declinando, tendo
passado de 71,3% a 65,6% entre 1991 e 2000. Considera-se
que este declnio constitui um bnus demogrfco para as
prximas dcadas.
P
O
P
U
L
A
O
B
R
A
S
I
L
E
I
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
220
A POPULAO BRASILEIRA TEM DOIS SEXOS...
ANA LISI THURLER *
...Mas homens e mulheres no desfrutam ainda efetiva igualdade de direitos e oportunidades.
Instituies passaram a desagregar seus dados por sexo, desvelando a desigualdade
entre lugares ocupados por eles e elas em nossa sociedade. Examinemos alguns desses dados.
Em 2004, as mulheres foram a maioria entre os
que ingressaram no ensino superior (55,1%), entre
os estudantes matriculados (56,4%) e, tambm,
entre os que concluram a formao universitria
no Pas (62,6%). Entretanto, o rendimento mdio
da mulher, em 2005, continuava, em todos os n-
veis, inferior ao masculino. A desigualdade maior
* Sociloga, pesquisadora e professora do Departamento de Sociologia
da Universidade de Braslia. coordenadora do projeto Paternidade e Cidadania
nas Escolas, parceria CNTE/UnB ana_liesi@uol.com.br
VOC SABIA?
M
A igualdade entre homens e mulheres
est afrmada constitucionalmente. O artigo
5, inciso I diz: Homens e mulheres so iguais
em direitos e obrigaes. E o artigo 226,
5 diz: Os direitos e deveres referentes
sociedade conjugal so exercidos igualmente
pelo homem e pela mulher. Em instncia
internacional, o Estado brasileiro comprome-
teu-se a adotar medidas para promover essa
igualdade, sendo signatrio da Conveno
sobre a Eliminao de Todas as Formas de
Discriminao contra a Mulher (Cedaw). Leia
o artigo 16, inciso "d" dessa Conveno: Os
Estados-partes (...),com base na igualdade
entre homens e mulheres, asseguraro os
mesmos direitos e responsabilidades como
pais, qualquer que seja seu estado civil, em
matrias pertinentes aos flhos.
entre trabalhadoras/es com escolaridade superior
completa (56,9%) e menor entre trabalhadoras/es
analfabetos, com as mulheres ganhando 81,8% dos
homens nessa mesma condio.
Entre 76 milhes de pessoas com ocupao
remunerada, em 2005, 30,2 milhes eram mulhe-
res, ou seja, 40%. Entre elas, 5,4 milhes tiveram
rendimento de um salrio mnimo e 7,8 milhes re-
ceberam menos de um salrio mnimo. Isto , 43,5%
das mulheres com ocupao remunerada, nesse ano,
receberam at um salrio mnimo. So mulheres a
maioria dos 40 milhes de trabalhadores/as exclu-
dos/as do atual regime previdencirio.
Alm disso, o trabalho domstico e parental
no remunerado das mulheres representa 13% do
PIB nacional e entre 10% e 35% do PIB mundial. A
diviso sexual do trabalho mantm o desafo da
promoo da igualdade no trabalho parental,
realizado, predominantemente, pelas mulheres.
agravante desse quadro o fato de, anualmente, entre
700 e 900 mil crianas fcarem, em nosso Pas, sem
reconhecimento paterno. As mes desses pequenos
cidados no contam, para apoi-las, nem com o pai
dessas crianas nem com uma rede de creches.
SAIBA MAIS Secretaria Especial de Polticas para as
Mulheres (www.presidencia.gov.br/spmulheres).
WWW.SOCIOAMBIENTAL.ORG
P
O
P
U
L
A
O
B
R
A
S
I
L
E
I
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 221
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
GRFICO 3
TAXA DE FECUNDIDADE TOTAL
Brasil e grandes regies, 1991 e 2000
Fonte: IBGE, Censos Demogrfcos de 1991 e 2000.
T
a
x
a
d
e
f
e
c
u
n
d
i
d
a
d
e
t
o
t
a
l
TABELA 5
FECUNDIDADE ESPECFICA
Brasil, 1991 e 2000 (por idade
ajustadas e por mil mulheres )
Idade 1991 2000 Variao entre 1991
e 2000 (em %)
15-19 74.8 93.8 +25.4
20-24 145.0 135.6 - 6.5
25-29 135.7 114.5 - 15.6
30-34 94.3 74.8 - 20.7
35-39 56.1 40.4 - 28.0
40-44 25.4 13.4 - 47.2
45-49 5.9 2.2 - 62.7
Fonte: IBGE, Censos Demogrfcos de 1991 e 2000.
Diferenciais regionais e sociais marcaram os nveis
e as tendncias da fecundidade e da mortalidade ao
longo das ltimas seis dcadas. No caso da mortalidade,
o Nordeste apresentou sempre os menores nveis para
a expectativa de vida ao nascer, igual a 38 anos em
1940, contrastando com os 50 anos conquistados pela
regio Sul. Essa diferena de doze anos aumentou para
dezesseis at o decnio de 1970, quando comeou a
declinar, atingindo seis anos em 2000, quando a vida
mdia na regio mais pobre do Pas chegou a 65 anos.
Ou seja, a partir de 1940, o Nordeste e o Sul ganharam,
respectivamente, 27 e 21 anos por viver.
Menos flhos, mes jovens
Quanto fecundidade, at 1980 praticamente se
mantiveram as diferenas de dois a trs flhos a mais no
Nordeste do que no Sudeste. Neste ltimo, o declnio
comeou mais cedo, em meados da dcada de 1960; no
Nordeste, isso ocorreria dez anos mais tarde. Em 1991,
quando a mdia nacional foi igual a 2,7 flhos por mulher, os
valores da fecundidade apresentados pelo Norte, Nordeste
e Sudeste foram, respectivamente, iguais a 4,2, 3,7 e 2,2.
O Grfco 3 ilustra a reduo das taxas, por regies, entre
1991 e 2000. Vale ressaltar ainda que o declnio de 11,9%
verifcado na fecundidade no Pas, no perodo 1991 e 2000,
foi maior nas reas rurais (onde apresentou um aumento de
19,2%, passando de 4,3 para 3,4 flhos por mulher), entre
as mulheres mais pobres (25,4%), menos escolarizadas
(14,3%) e negras (16,3%).
O Pas vem assistindo tambm a um rejuvenescimento
da fecundidade, traduzido por um deslocamento da idade
modal da fecundidade de 25 a 29 anos para o grupo de
mulheres mais jovens, de 20 a 24 anos. Alm disso, enquanto
a fecundidade declinou, na ltima dcada, a partir dos 20
anos, o grupo de jovens de 15 a 19 anos, apresentou, pela
primeira vez, em 2000, um aumento de 25,4% no nmero
mdio de flhos.
Populao em movimento
Os anos 1990 registraram grande movimentao nos
deslocamentos de pessoas que mudaram pelo menos uma
vez de municpio na dcada, traduzido por 12,5 milhes, o
que representa um aumento signifcativo quando compa-
rado aos 10,6 milhes que o fzeram na dcada anterior ou
aos 9,5 milhes correspondentes aos anos 1970.
As evidncias empricas sobre os movimentos mi-
gratrios interestaduais para os anos 1990 indicam que
parte das mudanas ocorridas nos 80 no se sustentou na
dcada seguinte, inclusive com a inverso de determinadas
tendncias. As reas ainda pertencentes categoria de
fronteira agrcola, regies Norte e Centro-Oeste, diminuram
seu mpeto de atrao interestadual no nvel nacional. No
Norte, Rondnia, de um saldo de 253 mil pessoas nos anos
80, passou para 44 mil nos 90, e o Par, de 168 mil para 24
P
O
P
U
L
A
O
B
R
A
S
I
L
E
I
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
222
O DNA DO BRASILEIRO
(DA REDAO)
mil, respectivamente. Sobressaem, por outro lado, novas
reas de expanso da migrao, como Amazonas, Roraima,
Amap e Tocantins. No Centro-Oeste, o Mato Grosso, depois
de um aumento em seu saldo migratrio nos anos 1980,
volta ao mesmo patamar dos anos 70 na dcada seguinte
(em torno de 170 mil pessoas).
Outro aspecto a destacar a complementaridade em
termos de transferncias de populao do Nordeste para o
Sudeste, que parecia ter diminudo nos anos 80, volta a ser
retomada entre o perodo 1990-2000, quando se assiste a
um incremento da emigrao nordestina (era de 3,2 milhes
nos anos 70, passando para 3,6 entre 1981-1991, chegando
a 4,0 milhes nos 90) e a um expressivo incremento da
imigrao do Sudeste, que inclusive havia registrado para
os anos 80 diminuio de sua imigrao: de 4,9 milhes
pessoas entre 1970-1980, baixou para 4,3 milhes nos anos
80, elevando-se para 5,2 milhes entre 1990-2000.
O Brasil certamente no pode ser considerado
uma democracia racial. Prova disso a necessidade de
uma lei para proibir o racismo, quando muitos brancos
brasileiros possuem no sangue grandes porcentagens de
linhagens africanas e amerndias, sem se dar conta de
que esse fato no lenda ou fora de expresso.
Estudos sobre o DNA dos brasileiros mostram
que em torno de 90% das patrilinhagens dos bran-
cos brasileiros (descendncia paterna) de origem
europia, enquanto aproximadamente 60% das
matrilinhagens dos brancos brasileiros (descen-
dncia materna) de origem africana ou amerndia.
Essa concluso combina com o que se sabe sobre o
povoamento do Brasil aps seu descobrimento:
praticamente apenas os portugueses vieram para
o Brasil at o sculo XIX. Os primeiros colonizadores
no trouxeram suas mulheres, rapidamente se mis-
cigenando com mulheres indgenas. Com a chegada
dos escravos, a partir da segunda metade do sculo
XVI, esse processo se estendeu s africanas.
Os estudos mostram ainda, de maneira geral,
uma proporo no DNA dos brasileiros de 33% de
linhagens amerndias, 28% de africanas e 39% de
europias, embora esses nmeros sejam bastante
variveis de regio para regio, de acordo com o
histrico da colonizao.
Alm disso, a palavra raa, por si s, j pode
trazer equvocos quando se fala nas diferenas do povo
brasileiro. Embora o IBGE ainda utilize esse termo para
diferenciar a populao (o principal critrio usado a
cor da pele, por auto-declarao, que o IBGE divide em
branca, negra, amarela, parda e indgena), a raano
existe do ponto de vista da cincia gentica. O homem
moderno distribuiu-se geografcamente e desenvolveu
caractersticas fsicas, incluindo cor da pele, que so
adaptaes de acordo com o meio geogrfco. No entan-
to, no houve diferenciao gentica sufciente entre os
grupos para que fossem considerados outras raas.
Para se referir s diferentes populaes, ento, o
termo etnia tem sido empregado ao invs de raa,
e designa populaes com caractersticas fsicas (de
aparncia) e culturais comuns. Mesmo assim, a defnio
da palavra etniano Novo Dicionrio Aurlio (primeira
edio) diz um grupo biolgico e culturalmente
homogneo. No existe, na face da Terra, nenhum
grupo humano biologicamente (nem culturalmente)
homogneo, muito menos no Brasil.
SAIBA MAIS Pena, Srgio D. J. (Org.). Homo Brasilis
- Aspectos genticos, lingsticos, histricos e socioan-
tropolgicos da formao do povo brasileiro. Funpec
Editora, 2002.
SAIBA MAIS IBGE (www.ibge.gov.br).
VEJA TAMBM Crescimento Econmico (pg.
433); Desenvolvimento Humano (pg. 435).
P
O
P
U
L
A
E
S
T
R
A
D
I
C
I
O
N
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 223
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
POPULAES TRADICIONAIS
NEIDE ESTERCI*
Cada povo tradicional tem uma identidade, uma histria, uma memria partilhada e um territrio
*Antroploga, presidente do ISA
Populaes tradicionais como tm sido chamados
aqueles povos ou grupos que, vivendo em reas perifricas
nossa sociedade, em situao de relativo isolamento face
ao mundo ocidental, capitalista, construram formas de se
relacionar entre si e com os seres e coisas da natureza muito
diferentes das formas vigentes na nossa sociedade.
No Brasil, antes de ser difundida a noo de populaes
tradicionais, esses povos ou grupos j eram conhecidos atra-
vs de uma multiplicidade de outros termos que, ora indica-
vam sua atividade econmica mais visvel, ora indicavam sua
origem tnica, ora se referiam aos espaos que habitavam ou
a aspectos de sua cultura e modo de vida. Eram pescadores,
seringueiros, babaueiros, quebradeiras de coco, ndios,
quilombolas, varjeiros, ribeirinhos, caiaras...
H tambm outros termos, criados por nossa sociedade,
que so carregados de juzos negativos por parte de segmen-
tos sociais que com eles se relacionam de forma confituosa
ou que, vivendo nas cidades, rejeitam os que vivem fora dos
centros urbanos e tm outra cultura, outros valores e estilos
de vida: so roceiros, caipiras, caboclos...
Na verdade, cada um dos povos referidos como tra-
dicionais tem uma identidade, uma histria partilhada,
uma memria e um territrio. Enquanto as reas que
ocupavam no atraam a cobia de segmentos sociais mais
poderosos, eles construram suas prprias leis de acesso
terra e aos recursos da natureza, assumindo o controle
de extenses mais inclusivas os territrios dentro dos
quais se situavam tanto reas de uso e domnio particular
quanto reas de uso e domnio comuns. O acesso a esses
territrios fortemente condicionado pertinncia
ao grupo, defnindo-se atravs de laos de parentesco,
compadrio ou vizinhana, de uma vivncia histrica e uma
memria partilhadas bases da construo da identidade
e da distino com relao aos de fora.
Quilombo de Ivaporunduva, Vale do Ribeira, So Paulo, 1997.
J
O
O
P
A
U
L
O
C
A
P
O
B
I
A
N
C
O
/
I
S
A
P
O
P
U
L
A
E
S
T
R
A
D
I
C
I
O
N
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 224
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
NO CONFUNDA...
Conhea os termos que designam algumas
dessas populaes:
M
Babaueiros Extrativistas que tm como
base da subsistncia a explorao do babau, uma
espcie de palmeira oriunda do Norte do Brasil.
M
Caboclos Mestios de negros e ndios que
vivem em comunidades rurais.
M
Caiaras Mestios de ndios e portugueses,
so pescadores tradicionais da faixa litornea de
So Paulo, Rio de Janeiro e Paran, onde primeira-
mente se estabeleceram os portugueses.
M
Caipiras Comunidades rurais formadas por
pessoas que trabalhavam nas grandes fazendas.
M
Seringueiros A principal atividade a extra-
o do ltex, matria-prima da borracha, embora
possam tambm praticar alguma agricultura e
criao de gado. As primeiras Reservas Extrativistas
criadas no Pas foram em grande parte resultantes
das aes dos seringueiros.
M
Quebradeiras de Coco Mulheres de comu-
nidades extrativistas do Maranho, Tocantins, Par
e Piau que coletam e quebram o coco da palmeira
de babau, utilizado para a produo de leo e
sabonete de coco, por exemplo.
M
Quilombolas Comunidades rurais negras,
muitas delas formadas por ex-escravos remanes-
centes dos quilombos (comunidades fundadas por
escravos fugidos) (ver Quilombolas, pg. 234).
M
Ribeirinhos Pequenos produtores que mo-
ram na beira de rios ou em regies de vrzea, ou
seja, nas reas de foresta que so periodicamente
alagadas pela gua de rios, e praticam atividades
de coleta, caa, pesca e alguma agricultura. So
conhecidos tambm como varjeiros.
Relao com o ambiente
Com exceo dos ndios, que tem caractersticas muito pe-
culiares (ver Povos Indgenas, pg. 226), os povos e grupos
referidos como tradicionais so pequenos produtores familiares
que cultivam a terra e/ou praticam atividades extrativas como
a pesca, coleta, caa, utilizando-se de tcnicas de explorao
que causam poucos danos natureza. Sua produo voltada
basicamente para o consumo e tm uma fraca relao com os
mercados. Sendo sua atividade produtiva muito dependente
dos ciclos da natureza, eles no criam grandes concentraes,
e as reas que habitam, tendo uma baixa densidade popula-
cional, so as mais preservadas entre as reas habitadas do
Planeta. Foi esta a primeira razo pela qual os ambientalistas
tiveram sua ateno voltada para esses povos.
De fato, preocupados com o poder de destruio da
atividade humana e a maneira perdulria de os homens
lidarem com a natureza, principalmente a partir da revoluo
industrial, alguns ambientalistas, j no fnal do sculo XIX,
passaram a lutar pelo estabelecimento de reas protegidas
por lei. Na perspectiva de uma das vertentes do ambien-
talismo, conhecida como preservacionista, o ideal era que
as reas protegidas no tivessem moradores, e que fossem
seguidas regras absolutamente restritivas com relao
explorao de recursos nelas existentes. Esta posio tem
representantes no campo ambiental brasileiro, ainda hoje.
Saberes e prticas
A primeira forma que a demanda dos preservacionistas
assumiu foi a de criao de parques nacionais extenses
considerveis, relativamente intocadas, s quais os homens
teriam acesso somente para contemplao e lazer.
Nos EUA, primeiro, e depois tambm na Inglaterra e em pa-
ses africanos, os parques foram ento criados, mas logo foi ne-
cessrio encontrar solues para o fato de que havia, em muitos
casos, direitos particulares j adquiridos a serem resguardados.
Muitos parques foram ento divididos em zonas, de modo que
dentro deles passaram a existir zonas integralmente protegidas
e outras nas quais algumas atividades eram permitidas.
Tambm foi se tornando cada vez mais clara a impossi-
bilidade de proteger efcazmente esses espaos, pois sendo
desabitados, eles acabavam sendo alvo de depredao
ainda maior por parte daqueles que habitavam as reas de
entorno. A utilidade da presena humana como forma de
conter as invases dessas reas foi se tornando evidente,
ao mesmo tempo em que os idealizadores dos parques
foram percebendo quanto os conhecimentos acumulados
pelas populaes que as habitavam poderiam ser teis na
P
O
P
U
L
A
E
S
T
R
A
D
I
C
I
O
N
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 225
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
implementao de manejo dos recursos, visando proteo
dos ecossistemas e da biodiversidade.
De fato, como pesquisas bem recentes comprovam,
mantendo-se as condies de baixa densidade demogrfca
e o uso das tcnicas costumeiras de explorao dos recursos,
essas populaes ao longo do tempo, no s causaram poucos
danos ao meio ambiente, como podem mesmo ter contribu-
do para o processo de aumento da biodiversidade.
Nesse contexto, portanto, que foi formulado o conceito
de populaes tradicionais. Ao contrrio dos termos ante-
riormente mencionados, a expresso carrega uma valorao
positiva da qual podem benefciar-se esses povos. que
sendo pensados como pouco agressivos com relao ao meio
ambiente, como portadores de conhecimentos e prticas
necessrios conservao e como aliados na luta para manter
afastados os invasores, eles se tornaram alvos de polticas que
visam a resguardar seu modo de vida. Uma dessas polticas
consiste exatamente na transformao dos territrios que
ocupam em reas legalmente protegidas, vedadas ao acesso e
imunes cobia e depredao de outros segmentos sociais.
So cada vez mais recorrentes os casos em que demandas
nesse sentido tm sido expressas pelos movimentos sociais
de que so protagonistas essas populaes.
SAIBA MAIS Diegues, Antonio Carlos; Arruda,
Rinaldo S.V. (Orgs.). Saberes tradicionais e biodi-
versidade no Brasil. Braslia: MMA, 2001. 176 p.
(Biodiversidade, 4).
VEJA TAMBM Chico Mendes (pg. 86); Reser-
vas Extrativistas (pg. 267).
Assim surgiram, no Brasil, as reservas extrativistas como
produto da aliana entre os socioambientalistas uma verten-
te do ambientalismo e o movimento dos seringueiros. Assim,
as quebradeiras de coco demandam que sejam reconhecidas as
reas de babau que elas exploram e, assim, tm sido reconhe-
cidas as terras dos remanescentes de quilombos.
Mas a noo de populaes tradicionais apresenta
algumas dificuldades. Os estudiosos e ambientalistas
apontam primeiro o problema de pensar essas populaes
como tradicionais, pois a noo sugere que elas possam ou
queiram permanecer nas mesmas condies em que viviam
ao serem assim classifcadas. Apontam tambm para o fato
de que sob esta mesma designao, encontram-se grupos e
povos muito diferenciados entre si do ponto de vista cultural,
e vivendo situaes tambm muito diversas.
Por exemplo, as reas que elas habitam so muitas
vezes ricas em produtos raros e muito cobiados, como
madeiras, minrios, animais e plantas silvestres. Para
que essas populaes continuem se mantendo afastadas
das prticas depredadoras, preciso que elas sejam alvo
de polticas e investimentos especiais que lhes garantam
mais independncia com relao aos agentes do mercado.
Quando as trocas comerciais as deixam endividadas elas
so levadas a trocar seus instrumentos artesanais e suas
prticas cuidadosas por outras mais agressivas, visando
maior produtividade. Muitas espcies e elementos da
biodiversidade cujas propriedades so ainda desconhecidas
da prpria cincia, podem assim se perder.
Discute-se, em nossos dias, a necessidade de os gover-
nos terem polticas compensatrias e de serem estabelecidas
formas de remunerao por servios ecolgicos prestados
por essas populaes que levem em conta os sacrifcios que
lhes so impostos pelas inmeras restries que o viver
nessas reas implica.
UMA POLTICA ESPECFICA
Lanada em fevereiro de 2007, a Poltica
Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais
(PNPCT) tem como principal objetivo promover o
desenvolvimento sustentvel dos povos e comuni-
dades tradicionais com nfase no reconhecimento,
fortalecimento e garantia dos direitos territoriais,
sociais, ambientais, econmicos e culturais, com
respeito e valorizao sua identidade, formas de
organizao e instituies.
Segundo estimativas, povos e comunidades
tradicionais ocupam, na prtica, quase 25% do
territrio nacional, mas pouco disso legalmente
reconhecido. Entre 2003 e 2007, porm, tiveram um
avano e passaram de 5 milhes de hectares legal-
mente reconhecidos para 10 milhes de hectares.
P
O
V
O
S
I
N
D
G
E
N
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 226
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
POVOS INDGENAS
BETO RICARDO*
Apesar de convertidos em minorias, os povos indgenas no Brasil conquistaram
direitos coletivos e permanentes na Constituio de 1988 e construram alianas com outros
setores da sociedade nacional e internacional para consolid-los
* Antroplogo, secretrio executivo do ISA
Os nativos somavam mais de mil povos e alguns
milhes de pessoas quando os portugueses chegaram, em
1500, costa leste do que viria a ser o Brasil. Embora o censo
demogrfco do IBGE (2000) tenha registrado, no quesito
cor, mais de 730 mil pessoas que se auto-identifcaram
genericamente como ndios (ver Populao Brasileira,
pg. 216), no h um censo indgena no Pas. Estima-se
que, hoje, a populao de origem nativa e com identidades
especfcas defnidas, some cerca de 480 mil indivduos
(ISA, 2006), vivendo em terras indgenas ou em ncleos
urbanos prximos isto , 0,2% da populao brasileira.
Esto divididos em cerca de 227 povos (ISA, julho de 2007),
do quais mais da metade (64%) tm uma populao de
at mil indivduos. Desde os anos de 1970 a populao
indgena como um todo est crescendo, embora existam
povos ameaados de extino. So faladas 180 lnguas
diferentes de dois grandes troncos (Tupi e Macro-J) e vrias
famlias. No seu conjunto, compem um verdadeiro mosaico
de micro sociedades com diferentes culturas e situaes de
contato, espalhadas por todo o territrio nacional. Cerca de
36 povos nativos que vivem no Brasil hoje tambm esto,
alm da fronteira nacional, em pases vizinhos. H dezenas
de povos isolados, sem contato regular com agncias do
Estado e segmentos da sociedade nacional.
As realidades indgenas especfcas so desconhecidas
para a maioria dos brasileiros. A imprensa trata os ndios de
maneira genrica e fragmentada, muitas vezes extica. A
cada perodo da histria recente do Brasil, por exemplo, uma
Aldeia Krah de Pedra Branca (TO), 1978.
V
I
N
C
E
N
T
C
A
R
E
L
L
I
P
O
V
O
S
I
N
D
G
E
N
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 227
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
NOVAS FORMAS DE SER NDIO
Voc tambm acha que em 1500 todo dia era dia de ndio, mas que hoje eles s tm o dia 19 de abril? Ou que
lugar de ndio andar pelado no mato, com cocar e caando de arco e fecha? Nem sempre. Os povos indgenas
no Brasil de hoje so muitos e diversos, e todo dia dia de algum povo especfco nas milhares de aldeias e muitas
cidades por quase todo o Pas. Mas o Dia do ndio uma oportunidade que o calendrio ofcial oferece e muitos
ndios aproveitam para se expressar, ter visibilidade.
Nos ltimos 30 anos, vrios povos indgenas considerados extintos reafrmaram suas identidades e emergi-
ram cena pblica. Nos ltimos 15 anos, surgiram centenas de organizaes indgenas fora das aldeias, dirigidas
por jovens lideranas que administram projetos com recursos no-reembolsveis da cooperao internacional e
de fontes governamentais. H msica e literatura indgena comeando a ser publicadas, vrias experincias de
escolas indgenas diferenciadas e outras iniciativas de valorizao e intercmbio cultural, alm de projetos com
alternativas econmicas voltadas para a comercializao de produtos com valor cultural e ambiental agregados.
Em abril de 2004, houve a primeira mostra de realizadores indgenas de vdeo num centro cultural da cidade do
Rio de Janeiro. H ndios na universidade e proposta de criao de universidade indgena.
H representantes indgenas em algumas instncias consultivas de polticas pblicas governamentais. Alguns
indgenas se aventuram pelo caminho da poltica partidria municipal.
Os povos indgenas tm direito, como todas os demais povos e culturas do mundo, a incorporar novidades,
fazer emprstimos culturais, inventar novas tradies e atualizar suas identidades.
Em sentido horrio: ndios das etnias Tariano, Kayap, Yanomami, Tuyuka, Coripaco e Panar; e Arawet (centro).
N
O
A
L
T
O
,
D
A
E
S
Q
.
P
/
D
I
R
.
:
R
O
S
A
G
A
U
D
I
T
A
N
O
/
S
T
U
D
I
O
R
,
C
L
A
U
D
I
A
A
N
D
U
J
A
R
,
B
E
T
O
R
I
C
A
R
D
O
;
A
O
C
E
N
T
R
O
:
E
D
U
A
R
D
O
V
I
V
E
I
R
O
S
D
E
C
A
S
T
R
O
;
A
B
A
I
X
O
:
B
E
T
O
R
I
C
A
R
D
O
P
O
V
O
S
I
N
D
G
E
N
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 228
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
YANOMAMI, O ESPRITO DA FLORESTA
BRUCE ALBERT*
A TERRA INDGENA YANOMAMI NO BRASIL
Os Yanomami constituem uma sociedade indgena
de caadores, coletores e agricultores do norte da Ama-
znia e formam um amplo conjunto lingstico e cultural,
ocupando um territrio de 192 mil km, em ambos os
lados da fronteira entre Brasil e Venezuela. A populao
Yanomami est estimada hoje em pouco mais de 33 mil
pessoas, das quais em torno de 15.500 vivem em terri-
trio brasileiro, repartidas em cerca de 250 grupos locais,
na regio do Rio Branco (oeste do estado de Roraima) e
na margem esquerda do Rio Negro. A demarcao da
Terra Indgena Yanomami no Pas aconteceu em 1991
e sua homologao em 1992, garantindo a esse povo o
usufruto exclusivo de 96.650 km em rea contnua.
Durante a corrida ao ouro de Roraima, entre 1987
e 1990, mais de mil Yanomami morreram no Brasil em
razo de doenas e violncias sofridas pela invaso de
suas terras por cerca de 40 mil garimpeiros. Essa trag-
dia fez Davi Kopenawa Yanomami reviver a lembrana
de sua infncia, durante a qual seu grupo de origem
foi tambm dizimado por duas epidemias (1959 e
1967), contradas logo aps contatos com o Servio
de Proteo ao ndio e missionrios da organizao
evanglica Novas Tribos do Brasil.
Davi j vinha lutando desde 1983 pela demarcao
das terras Yanomami e, durante o episdio trgico da
invaso garimpeira do fm dos anos 1980, tornou-se o
principal porta-voz da causa Yanomami e um dos lderes
indgenas mais conhecidos no Brasil e no mundo.
Visitou vrios pases na Europa e os Estados Unidos,
alm de ter recebido importantes prmios nacionais
e internacionais por levar ao mundo o despertar da
conscincia pblica quanto importncia da cultura e
os conhecimentos dos povos tradicionais.
A palavra yanomami urihi a designa a foresta e seu
cho. Yanomae thp urihip, signifca a terra-foresta
dos seres humanos. a terra que Omama, o criador do
mundo e da sociedade Yanomami, deu para este povo
viver de gerao em gerao. Seria, em nossas palavras,
a Terra Indgena Yanomami.
No depoimento a seguir, Davi mostra que, para os
Yanomami, urihi a, a terra-foresta, no um mero
cenrio inerte, objeto de explorao econmica, e
sim uma entidade viva, animada por uma di-
nmica de trocas entre os diferentes seres
que a povoam, humanos e no-humanos,
visveis e invisveis:
(...) Os Brancos pensam que a foresta
foi posta sobre o solo sem qualquer razo,
como se estivesse morta. Isso no verdade. Ela
s calma e silenciosa porque os xapirip (espri-
tos xamnicos) detm os seres malfcos e a raiva
dos entes da tempestade. A foresta no est morta,
se fosse assim as rvores no teriam folhas. Tampouco
* Antroplogo, pesquisador do Institut de Recherche pour le Dveloppement (IRD),
associado ao ISA e membro fundador da CCPY brucealbert@uol.com.br
P
O
V
O
S
I
N
D
G
E
N
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 229
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
se veria gua. As rvores da foresta so belas porque
esto vivas. S morrem quando esto abatidas e se
ressecam. Elas s tm uma vida. assim. Nossa foresta
viva, e se os brancos nos fzeram desaparecer para
desmat-la toda e morar no nosso lugar, fcaro pobres
e acabaro tendo fome e sede. O que vocs chamam
natureza , em nossa lngua, urihi a, a terra-foresta,
e sua imagem vista pelos xams, urihinari. porque
existe essa imagem que as rvores so vivas. O que
chamamos urihinari o esprito da foresta; os espritos
das folhas, das rvores e dos cips. Esses espritos so
muito numerosos e brincam no cho da foresta. Ns
o chamamos tambm urihi a, natureza, da mesma
maneira que os espritos animais yarorip e mesmo os
das abelhas, das tartarugas e dos caracis. A fertilidade
da foresta, n rope, tambm natureza para ns: ela
foi criada com a foresta, sua riqueza.
A terra da foresta possui um sopro vital, wixia, que
muito longo. O dos seres humanos muito menor;
vivemos e morremos depressa. Se no a desmatarmos,
a foresta no morrer. Ela no se decompe. graas
a seu sopro mido que as plantas crescem. Quando
estamos muito doentes, em estado de espectro, ele
tambm ajuda na nossa cura. Vocs no vem, mas a
foresta respira. No est morta. Olhem bem para ela:
suas rvores esto bem vivas, e suas folhas brilham.
Se ela no tivesse sopro, as rvores estariam secas.
Esse sopro vem do fundo da terra, l onde repousa seu
frescor. Ele tambm est em suas guas.
A floresta no est morta, como pensam os
brancos. Mas se eles a destrurem, ela morrer. Seu
sopro vital fugir para longe. A terra se tornar rida e
s haver poeira. As guas desaparecero. As rvores
fcaro ressecadas. As pedras da montanha iro se aque-
cer e se partir. Quando o sopro do esprito da terra est
presente, a foresta bela, a chuva cai e o vento sopra.
Esse esprito vive com os xapirip. Foram criados juntos.
assim, a foresta no bela por acaso. Mas os brancos
parecem pensar que . E eles se enganam.
SAIBA MAIS Comisso Pr-Yanomami (CPPY)
(www.proyanomami.org.br).
M
I
C
H
E
L
P
E
L
L
A
N
D
E
R
S
/
H
O
L
L
A
N
D
S
E
H
O
O
G
T
E
Aldeia Yanomami, Demini, Roraima (1989).
A
L
D
E
I
A
S
&
M
A
L
O
C
A
S
230 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
POVOS INDGENAS
(1) Fachada da maloca da comunidade Tuyuka de S. Pedro, Alto Rio Tiqui (AM); (2, 3 e 4) Comunidades Baniwa,
Alto Iana (AM); (5) Comunidade indgena Taperera, Rio Negro (AM).
1 2
3 4
5
F
O
T
O
S
:
B
E
T
O
R
I
C
A
R
D
O
/
I
S
A
A
L
D
E
I
A
S
&
M
A
L
O
C
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 231
POVOS INDGENAS
(1, 2, 3 e 4) Maloca
Ikpeng, Parque
Indgena do Xingu
(MT), 2005
M
A
R
C
U
S
S
C
H
M
I
D
T
/
I
S
A
F
O
T
O
S
:
V
I
N
C
E
N
T
C
A
R
E
L
L
I
1
2
4
3
A
L
D
E
I
A
S
&
M
A
L
O
C
A
S
232 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
POVOS INDGENAS
O "Yano" dos Wakathau Therip, 1974. O "yano" remete-se viso do mundo Yanomami, terra em que vivemos.
A abbada celeste que a cobre, sustentada por troncos e multido de ramos. Num passado mtico, servia como caminho
para o alm, " o mundo de cima". No seu cume, abrem-se entradas de luz rasante que marcam a hora do dia, que suga a
fumaa dos fogos acesos dia e noite, subindo do mago de cada famlia nuclear. O "yano" o lugar de comunicao dos
xams com os espritos da natureza, lugar sagrado dos rituais.
C
L
U
D
I
A
A
N
D
U
J
A
R
1
2
P
O
V
O
S
I
N
D
G
E
N
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 233
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
tribo ocupou o lugar de destaque na mdia e no imaginrio
dos brasileiros. Assim foram os Karaj da Ilha do Bananal na
dcada de 1940, os Xavante do Mato Grosso na dcada de
1950, os povos xinguanos na dcada de 1960, os gigantes
Krenhakarore (Panar) nos anos 1970, os Yanomami, os
Kayap e os Guarani nos anos 1990.
A difculdade em se encontrar informaes qualifcadas
e atualizadas sobre os povos indgenas, entre outras razes,
se deve ao pouco espao de expresso direta que eles tm
no cenrio cultural e poltico do Pas, mesmo que essa
participao esteja crescendo nos ltimos anos. Apenas
metade das lnguas atualmente faladas recebeu algum
registro cientfco. O portugus falado hoje pelos brasileiros
est repleto de palavras e expresses de origem indgena,
quase todas de lnguas do tronco tupi.
Direitos e conhecimentos especiais
Os povos indgenas tm na Constituio brasileira
de 1988 um captulo especial que trata dos seus direitos
coletivos e rompe com a tradio assimilacionista da
poltica indigenista e da tutela do Estado (ver Legislao
Brasileira, pg. 485). So direitos especiais, alm daque-
les direitos individuais que valem para todos os cidados
brasileiros. Entre os direitos coletivos, o mais importante
o direito terra. Com base no reconhecimento desse
direito originrio, os povos indgenas tm direito ao usu-
fruto exclusivo das terras que ocupam tradicionalmente.
O estado obrigado a reconhecer esse direito e demarcar
as terras indgenas.
Hoje no Brasil as terras indgenas j demarcadas
ou em processo somam 12,83% do territrio nacional
e 21,5% da Amaznia brasileira. Embora alguns setores
da sociedade brasileira afrmem que muita terra para
pouco ndio, a maioria da populao brasileira apia essa
situao e reconhece que os ndios tm esse direito como
primeiros habitantes, conforme mostrou a pesquisa de
opinio realizada em 2000 pelo Ibope (ver Voc Sabia?).
A extenso das terras indgenas apresenta duas situaes
bem diferentes: nas regies Nordeste, Sudeste e Sul, os
povos indgenas esto confnados em micro-territrios;
nas regies Centro-Oeste e Norte esto as terras mais
extensas, via de regra demarcadas depois da Constituio
de 1988 (ver Terras Indgenas, pg. 262).
os povos indgenas tm direito ao usufruto exclusivo das
terras que ocupam tradicionalmente. O estado obrigado a
reconhecer esse direito e demarcar as terras indgenas. Hoje
no Brasil as terras indgenas j demarcadas ou em processo
somam 12,83% do territrio nacional e 21,5% da Amaznia
brasileira. Embora alguns setores da sociedade brasileira
afrmem que muita terra para pouco ndio, a maioria
da populao brasileira apia essa situao e reconhece
que os ndios tm esse direito como primeiros habitantes,
conforme mostrou a pesquisa de opinio realizada em 2000
pelo Ibope (ver adiante). A extenso das terras indgenas
apresenta duas situaes bem diferentes: nas regies Nor-
deste, Sudeste e Sul, os povos indgenas esto confnados
em micro territrios; nas regies Centro-Oeste e Norte esto
as terras mais extensas, via de regra demarcadas depois
da Constituio de 1988 (ver Mapa sobreposio de reas
protegidas, pg. 215).
Os ndios tm conhecimentos tradicionais sobre a
biodiversidade importantes para o futuro da humanidade e,
embora no sejam naturalmente ecologistas, os recursos na-
turais nas suas terras esto sempre mais preservados do que
nos seus entornos. Um exemplo bem claro dessa situao o
Parque Indgena do Xingu. Embora os 16 povos que a vivem
protejam o parque, o mesmo no acontece com as forestas
que deveriam cobrir as cabeceiras desse grande
VOC SABIA?
M
A pesquisa O que os Brasileiros pensam dos
ndios, realizada em 2000 pelo Ibope a pedido
do ISA, revelou que a maioria da populao do
Pas (68%) apia a demarcao e a extenso
das terras indgenas. Os entrevistados apon-
taram os trs maiores problemas dos ndios:
57% indicaram a invaso das suas terras, 41%
apontaram o desrespeito sua cultura e 28%
indicaram as doenas transmitidas pelo contato
com os brancos.
M
A primeira lngua falada pelos brasileiros no
sculo XVI no foi o portugus, mas a Lngua
Geral, formada a partir do idioma Tupinamb.
Duas variaes dessa lngua se formaram: uma
no litoral, denominada depois pelos lingistas
como Lngua Geral Paulista (LGP) e outra
chamada de Lngua Geral Amaznica (LGA).
A primeira foi extinta. A segunda, conhecida
a partir do sculo XIX como Nheengatu (fala
boa) continua sendo falada ainda hoje na
regio do Rio Negro. A Cmara municipal do
municpio de So Gabriel da Cachoeira (AM)
decretou em 2002 o Nheengatu como lngua
co-ofcial do municpio.
Os ndios tm conhecimentos tradicionais sobre a
biodiversidade importantes para o futuro da huma-
nidade e, embora no sejam naturalmente ecologistas,
os recursos naturais nas suas terras esto sempre mais
preservados do que nos seus entornos. Um exemplo
bem claro dessa situao o Parque Indgena do Xingu.
Embora os 16 povos que a vivem protejam o parque,
o mesmo no acontece com as florestas que deveriam
cobrir as cabeceiras desse grande rio situado no centro
geogrfico do Brasil. Elas esto sendo destrudas com a
implantao de um modelo predatrio de desenvolvi-
mento, que combina extrao madeireira, agropecuria
e produo de gros para exportao (ver Parque
Indgena do Xingu, pg. 278).
Q
U
I
L
O
M
B
O
L
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 234
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
QUILOMBOLAS
CRISTINA VELASQUEZ*
Apesar dos direitos garantidos pela Constituio, ainda h muito para se avanar
e fazer jus ao compromisso histrico do Pas com essas comunidades
*Engenheira forestal e mestre em Cincias Florestais, assessora do
Programa de Polticas Pblicas e Direito Socioambiental do ISA
Na histria do Brasil, consideravam-se quilombos
os grupos de escravos que se rebelavam contra o grande
produtor - o senhor - e se refugiavam na mata, transfor-
mando-se em foco de resistncia contra a escravido, como
foi o Quilombo dos Palmares. A formao dos quilombos
inicia-se logo no incio da vinda dos africanos escravizados
para o Brasil, no sculo XVII, e perdura at o sculo XIX,
mesmo aps a abolio da escravatura.
Essas comunidades foram fundadas por diferentes
processos de resistncia dos negros contra a escravido e
contra a opresso e excluso durante e aps o regime escra-
vista. Mas apenas 100 anos depois do fm da escravido,
com a Constituio de 1988, que essas populaes passam
a ser reconhecidas como grupo tnico e tm seus direitos
includos na legislao do Pas.
Um marco importante no processo de organizao das
comunidades negras rurais identifcado no fnal da dcada
de 1980, atravs do movimento desencadeado para dar
aplicabilidade a lei que estabelece o direito de propriedade
defnitiva de suas terras aos remanescentes de quilombo. Esse
fato marca um passo decisivo que fez com que as comunida-
des se unissem em torno de objetivos mais amplos, discutindo
questes concernentes sua identidade e seus direitos, no
sentido da revalorizao e preservao de sua cultura.
A esses grupos chamamos comunidades quilombolas
que, em linhas gerais, eram defnidas como comunidades
negras rurais que agrupem descendentes de escravos,
vivendo da cultura de subsistncia e onde as manifestaes
culturais tm forte vnculo com o passado.
Entretanto, apenas em 2003 o presidente Lula regula-
mentou a lei (Decreto 4887 de 2003) e instituiu uma srie
de polticas pblicas para as comunidades quilombolas.
De acordo com essa lei, os remanescentes de quilombo so
defnidos como grupos tnico-raciais que tenham tambm
uma trajetria histrica prpria, dotados de relaes
territoriais especfcas, com presuno de ancestralidade
negra relacionada com a resistncia opresso histrica
sofrida, e sua caracterizao deve ser dada segundo critrios
de auto-defnio, atestada pelas prprias comunidades.
Essa lei permitiu tambm o reconhecimento de quilombos
em reas urbanas.
Vale lembrar que esse critrio de auto-atribuio ou
auto-defnio adotado tambm pela Conveno 169 da
OIT sobre Povos Indgenas e Tribais, frizando a importncia
em determinar aos grupos a conscincia de sua identidade
indgena ou tribal.
Estas comunidades esto distribudas em todas as
regies e ecossistemas do Pas. Desde 2003, o Instituto
Nacional de Colonizao e Reforma Agrria (Incra) o
responsvel pela demarcao e titulao das terras dos
quilombos. Deste modo, as comunidades quilombolas auto-
identifcadas devem solicitar ao Incra o seu reconhecimento
e a titulao das suas terras. Esse processo se d por meio
de laudo antropolgico. Ainda no se conhece o nmero
exato das comunidades no Pas, mas os dados disponveis
indicam que existem 2.847 comunidades de quilombos,
com 52.937 famlias em 24 estados.
F
E
L
I
P
E
=
L
E
A
L
/
I
S
A
Passando a palha por entre os fos do tear. Artesanato da
palha da bananeira. Quilombo de Ivaporunduva (SP).
Q
U
I
L
O
M
B
O
L
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 235
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
Em levantamento recm-concludo pelo Incra, ve-
rifcou-se que esto em andamento 463 processos nos
quais os quilombolas cobram o reconhecimento legal das
terras que ocupam. Na maior parte dos casos, tambm
reivindicam a devoluo de reas ao redor, que teriam per-
tencido aos seus antepassados. Trata-se de uma quantidade
expressiva de pedidos, cuja execuo
implica na desapropriao de terras
em diversos estados. Mesmo assim,
ela sinaliza apenas parte do problema,
pois existem tambm problemas com
comunidades remanescentes de quilombos que reivindicam
reas que esto sobrepostas a unidades de conservao e
reas privadas.
Para estas populaes, a conquista do territrio sem
dvida um dos grandes objetivos e tambm um desafo
VOC SABIA?
M
Em Gois, o Quilombo do Kalunga o maior
do Pas e tem 1.200 famlias, mas ainda no foi
titulado e reivindica 243 mil hectares.
VEJA TAMBM Populaes
Tradicionais (pg. 223).
atual. O Quilombo da Caandoca, em
Ubatuba, no litoral paulista, um
exemplo de conquista na luta pelo
territrio, pois foi o primeiro quilom-
bo beneficiado com um decreto de
desapropriao de terras por interesse
social. Esta luta durava mais de 43 anos,
nos quais seus moradores disputavam
com uma imobiliria local os direitos
sobre uma rea de 210 hectares, de
frente para o mar e dentro da Mata
Atlntica. Em setembro de 2000, o go-
verno ps fm disputa com um decreto
de desapropriao da rea, que acaba
de ser devolvida s 53 famlias.
Em 2004, foram concedidos dois t-
tulos de propriedade; em 2005, saram
quatro; em 2006, segundo o Incra, 14.
So todos ttulos de propriedade cole-
tiva, ou seja, para a comunidade, no
para as famlias, como na reforma agrria. Nesses trs anos,
o volume de terras tituladas j soma 28.725 hectares.
Na maior parte dos casos, so comunidades pobres,
com baixo grau de instruo, pouco poder de presso e que
sobrevivem com o apoio de projetos sociais, pois tm acesso a
poucas polticas pblicas especfcas.
Esses grupos encontram tambm
apoio atravs da nova Poltica de Povos
e Comunidades Tradicionais, que tem
como principal objetivo promover o
desenvolvimento sustentvel dos povos e comunidades
tradicionais (ver Uma Poltica Especfca, pag. 225).
Existem ainda, situaes em que a reinvindicao des-
ses territrios passam por situaes de confito de interesses
com reas privadas, como o caso do Quilombo Conceio
da Ba, no Esprito Santo, em que 1.200 famlias reivindicam
direitos de posse de uma rea de 60 mil hectares, ou ainda
a situao vivida pelos quilombolas de Nossa Senhora
do Livramento, em Gois, onde fazendeiros contestam a
concesso de 18 mil hectares ao Quilombo Mata-Cavalo.
No Rio de Janeiro, na Restinga da Marambaia, quilombolas
brigam na Justia por uma rea de preservao na qual a
Marinha construiu uma base.
COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO BRASIL
Sul 175 Maranho 734
Rio Grande do Sul 148 Sergipe 29
Paran 8 Pernambuco 102
Santa Catarina 19 Alagoas 52
Sudeste 375 Rio Grande do Norte 68
So Paulo 85 Paraba 17
Minas Gerais 204 Cear 79
Esprito Santo 52 Piau 174
Rio de Janeiro 34 Norte 442
Centro Oeste 131 Par 403
Gois 33 Amap 15
Mato Grosso 73 Tocantins 16
Mato Grosso do Sul 25 Rondnia 5
Nordeste 1.724 Amazonas 3
Bahia 469
FONTE: Anjos, Rafael Sanzio (pesq.). Quilombolas: tradies e cultura da resistncia. So Paulo; Aori Comunicaes, 2006.
D
I
R
E
I
T
O
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 236
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
DIREITO SOCIOAMBIENTAL
ANA VALRIA ARAJO*
Reconhecido pela Constituio brasileira, o direito socioambiental trata conjuntamente
as questes sociais e ambientais, mostrando que esto intimamente misturadas
*Advogada, secretria executiva do Fundo Brasil de Direitos Humanos
avaraujo@terra.com.br
A Constituio de 1988 constituiu um marco na histria
do direito brasileiro ao estabelecer um conjunto de direitos
sociais e coletivos voltados a garantir, alm dos direitos
fundamentais a cada cidado, o bem-estar da nao.
Com este intuito, por exemplo, reconheceu s presentes e
futuras geraes de brasileiros o direito a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado e passou a exigir que, para ser
protegida, toda propriedade cumpra uma funo social e
ambiental. Ao mesmo tempo, transformou em realidade
jurdica o carter pluritnico de nosso Pas, valorizando a
nossa diversidade cultural e garantindo a todos os cidados
o direito de ver este imenso patrimnio cultural protegido.
Aos povos indgenas, primeiros habitantes de nosso terri-
trio, reconheceu o direito diferena e a necessidade de
conferir-se a eles as condies de permanecerem diferentes,
se assim o desejarem. Reconheceu ainda direitos territoriais
a comunidades remanescentes de quilombos. Pautada pelo
princpio de que a razo de ser de toda sociedade humana
promover o bem comum, a Constituio buscou criar e
fortalecer prticas democrticas em nosso Pas, garantindo
direitos coletivos aos brasileiros e a alguns segmentos da
sociedade, os quais rompem com uma longa tradio de
supremacia da propriedade privada e do contrato, institutos
at ento pouco passveis de qualquer restrio em nossa
legislao (ver Legislao Brasileira, pg. 481).
Com isso, a Constituio estabeleceu as bases de um di-
reito moderno o direito socioambiental, que se caracteriza
por um novo paradigma de direitos da cidadania, passando
pelos direitos individuais e indo muito alm. No se trata da
soma linear dos direitos sociais e ambientais previstos no
ordenamento jurdico do Pas, mas de um outro conjunto
resultante da leitura integrada desses direitos, pautada pela
tolerncia entre os povos e pela busca do desenvolvimento
comum e sustentvel. O direito socioambiental parte da
constatao de que no h razo de ser em conjuntos de
direitos isolados e estanques. No h direito indgena ou
de quaisquer outros povos se as forestas e os ambientes
do Planeta em geral estiverem totalmente comprometidos;
no existe patrimnio cultural sem o respeito diferena das
gentes responsveis pela diversidade e riqueza culturais; to
pouco adianta proteger o meio ambiente sem considerar o
direito das populaes que o conformam e so capazes
de ajudar a mant-lo protegido. Em outras palavras, no
h biodiversidade sem sociodiversidade, sendo certo
tambm, por outro lado, que a preservao dessa biodiver-
sidade fundamental para as presentes e futuras geraes.
O direito socioambiental reconhece que as questes sociais
e ambientais esto intimamente misturadas e as trata nesta
dimenso, buscando resolver o presente sem deixar de pensar
no futuro, tentando vislumbrar alternativas harmnicas para
a preservao e o desenvolvimento, que permitam gerar pa-
rmetros politicamente sustentveis e bem mais promissores
que os atuais em se tratando de soluo de confitos.
O meio ambiente e as futuras geraes
Um dos maiores avanos do texto constitucional foi
reconhecer o meio ambiente ecologicamente equilibrado
como um direito fundamental do cidado, considerando-o
como bem a ser preservado no s para as presentes gera-
es como para as futuras. Assim fazendo, estabeleceu-o
como direito fundamental tambm daqueles que ainda nem
nasceram e ainda estaro por vir. Para alm dos signifcados
a serem explorados pelos juristas, essa norma atribui s
geraes presentes cada um de ns alm de um direito
fundamental, uma obrigao, desenhando a dimenso da
nossa responsabilidade em garantir um legado de susten-
tabilidade para a vida no Planeta, que passa por pensar o
desenvolvimento de hoje sem perder de vista as conseqn-
cias para um mundo em que vivero nossos flhos e netos,
seus flhos, seus netos e os descendentes daqueles.
Os direitos indgenas e o meio ambiente
A Constituio de 1988 garantiu o direito dos ndios
sua organizao social, costumes, lnguas, crenas e
D
I
R
E
I
T
O
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 237
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
ZOOM
tradies, alm de direitos originrios s terras por eles
tradicionalmente ocupadas, com usufruto exclusivo dos
recursos naturais nelas existentes. Por direitos originrios,
quis dizer direitos que antecedem existncia do prprio
Estado e que, portanto, so anteriores a qualquer outro.
O texto constitucional define as terras indgenas,
listando quatro elementos que devero ser considerados
necessria e simultaneamente: 1) os espaos onde esto as
habitaes; 2) aqueles utilizados para atividades produtivas,
como roas, coleta, caa, pesca etc.; 3) as terras impres-
cindveis preservao do meio ambiente; e 4) aquelas
necessrias reproduo fsica e cultural do povo indgena
em questo. Com isto, a Constituio mescla elementos
culturais, ambientais e fundirios visando garantir a efetiva
proteo dos povos indgenas. Na verdade, sabe-se que hoje
as reas de maior preservao de forestas na Amaznia so
exatamente aquelas situadas no interior das terras indge-
nas, razo pela qual qualquer estratgia de proteo do
OS NDIOS PANAR E O JUDICIRIO
Em 2003, os ndios Panar, que vivem na
regio do Rio Peixoto de Azevedo, na divisa entre
Mato Grosso e Par, receberam uma indenizao do
governo brasileiro pelos danos morais e materiais
sofridos em razo de polticas indigenistas indevi-
das e omisso histrica. Os Panar, contatados nos
anos 1970 por ocasio de construo da Rodovia
Cuiab-Santarm, foram quase dizimados em ape-
nas dois anos por conta de doenas contradas no
contato descontrolado com o homem branco, tendo
os sobreviventes sido indevidamente removidos de
seu territrio tradicional e largados prpria sorte
em meio a inimigos tradicionais e um habitat totalmente distinto no Parque do Xingu. Vinte anos depois, os Panar
ainda sonhavam em voltar para casa e em retomar uma vida digna.
Com a Constituio de 1988, promoveram uma ao judicial contra o governo federal visando, em primeiro
lugar, ter reconhecido o seu direito s terras tradicionais. Uma parte de seu antigo territrio tradicional ainda se
mantinha intacta, ao norte da regio de assentamentos e garimpo que tomou conta das terras que no passado
haviam sido suas. O governo federal acabou por reconhecer-lhes o direito, permitindo que a Terra Indgena Panar
fosse demarcada e que a comunidade retornasse ao territrio tradicional a partir de 1996.
Algum tempo depois, o Judicirio iria garantir aos Panar uma deciso sem precedentes, em que se reconhe-
cia a omisso e a responsabilidade do Estado pelas mortes e por todo o sofrimento imposto ao povo a partir do
contato, condenando-o a compens-los pelos danos. A indenizao foi afnal paga em 2003 e com ela os Panar
constituram um fundo com o qual pretendem garantir as condies mnimas para levar adiante os seus planos
de futuro. Os Panar so hoje mais de 300 ndios e a populao continua a crescer. A foresta em seu territrio est
muitssimo preservada e suas terras so ricas em fauna. A comunidade tem desenvolvido uma srie de trabalhos
visando a sustentabilidade de seus recursos naturais, que vo desde o monitoramento de suas fronteiras para a
preveno de invases, at por exemplo o aprendizado da explorao de mel orgnico e atividades assemelhadas,
que lhes garantem uma alternativa para a gerao de renda.
Teseia Panar na porta do TRF em Braslia, comemora
ganho de ao indenizatria, 2000.
O
R
L
A
N
D
O
B
R
I
T
O
D
I
R
E
I
T
O
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 238
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
REGIME ESPECIAL DE PROTEO
As discusses sobre a proteo aos conhecimentos tradicionais parecem estar se conduzindo para um consenso
que prev a criao de um regime especial e diferenciado, por muitos referido como um sistema sui generis. O fato
que, tradicionalmente, conhecimento protegido pelo direito de propriedade intelectual, regulado por um sistema
de patentes desenhado especialmente para os chamados conhecimentos novos, individualmente produzidos. Os
conhecimentos tradicionais, que em sua grande parte so produzidos de forma coletiva e informal, transmitindo-se
oralmente de gerao para gerao, difcilmente se enquadrariam nos padres rgidos da propriedade intelectual.
Seriam, quase sempre, tidos como de domnio pblico e, por isso mesmo, no patenteveis.
Um sistema efetivo de proteo dos conhecimentos tradicionais deveria contemplar idealmente alguns
elementos fundamentais, que passam pela sua valorao como conhecimento cientfco e pelo direito de negar o
seu uso, garantindo a impossibilidade do seu patenteamento, alm da imprescritibilidade e impenhorabilidade
dos direitos dos seus detentores. H duas premissas sobre as quais se debrua toda a proteo:
Consentimento prvio e informado todo o uso que se pretenda fazer do conhecimento tradicional deve
ser precedido de um processo de discusso com a comunidade que detenha o conhecimento em questo, de
modo que esta seja informada do que se pretende fazer, dos produtos decorrentes desse uso e das vantagens
a serem auferidas, garantindo-se-lhe tempo sufciente para elaborar tais informaes e ser capaz de decidir
e autorizar, ou no, o uso de seu conhecimento para o fm almejado.
Repartio justa de benefcios o uso que se pretende dar ao conhecimento deve levar em conta a con-
tribuio efetiva do conhecimento tradicional para o desenvolvimento do produto, reconhecendo-o como
um instrumento valioso de produo do saber e partilhando com o detentor do conhecimento tradicional a
sua eventual remunerao de forma justa e eqitativa (ver Comrcio Justo, pg. 425).
VOC SABIA?
M
A Constituio Brasileira uma das nicas
no mundo a ter um captulo dedicado especial-
mente proteo do meio ambiente e outro
proteo dos direitos indgenas.
meio ambiente e conservao da biodiversidade no pode
deixar de levar em considerao essas terras, em benefcio
do Pas como um todo.
Como as terras indgenas so tambm alvo de cobia
para a explorao de seus recursos naturais, tais como
madeira e minrios, alm da utilizao dos recursos hdricos
nelas existentes para a construo de hidreltricas, a Consti-
tuio fxou regras para impedir que essa explorao ignore
a necessidade de garantir os modos de vida dos povos que
ali vivem, como historicamente sempre se viu em nosso Pas.
Decorre da a necessidade de que leis especfcas regulem a
explorao por terceiros de tais recursos, alm da obrigato-
riedade de obteno de autorizao por parte do Congresso
Nacional nos casos de minerao e das hidreltricas.
Vale dizer ainda que o direito ao usufruto exclusivo
assegurado aos povos indgenas sobre os recursos naturais
existentes em suas terras se faz de acordo com os seus
prprios usos, costumes e tradies, observando-se as
disposies gerais da legislao brasileira sem que se es-
quea da necessidade de respeitar as diferenas culturais
existentes. Isto quer dizer que o direito indgena nem
pode ser minimizado pelo contedo de uma norma que,
aplicvel em um outro contexto, afastaria por completo o
controle dos ndios sobre os seus territrios, nem to pouco
pode se pautar pela viso do absoluto, ou de que para os
ndios tudo possvel. Na verdade, este ltimo argumento
tm sido falsamente utilizado para gerar uma impresso
D
I
R
E
I
T
O
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 239
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
deturpada de que os ndios tm privilgios, colocando-os no
centro de uma disputa poltica que visa, na maior parte das
vezes, liberar as suas terras para uma explorao econmica
indiscriminada (ver Povos Indgenas, pg. 226; Terras
Indgenas, pg. 262).
Recursos genticos e
conhecimento tradicional
O Brasil considerado um pas de megadiversidade bio-
lgica, em razo da presena macia de espcies variadas da
fora e da fauna em seus diferentes ecossistemas. Enquanto
isso, sabe-se que os povos indgenas e as populaes tradi-
cionais (seringueiros, caiaras, comunidades quilombolas,
ribeirinhos, extrativistas, pequenos agricultores etc.) so, em
grande parte, responsveis pela conservao e pela prpria
diversidade biolgica de nossos ecossistemas, produto da
interao e do manejo da natureza em moldes tradicionais.
Sabe-se ainda que, atravs dos tempos, esses povos e
populaes acumularam um profundo conhecimento sobre
os recursos naturais das regies onde vivem, o que se con-
vencionou chamar de conhecimentos tradicionais.
Os recursos da biodiversidade brasileira, assim como os
conhecimentos tradicionais a eles associados tornaram-se
alvo de intensa preocupao nos ltimos tempos, com o
avano da biotecnologia, passando a demandar meca-
nismos de proteo at ento inexistentes. Essa riqueza
biolgica de grande interesse para indstrias principal-
mente na rea de frmacos, cosmticos e alimentos, sendo
certo que os conhecimentos tradicionais podem abreviar
anos de pesquisas e signifcar imensa economia de gastos
e de trabalho dos grandes laboratrios.
A questo suscita confitos que extrapolam os limites
do Pas, exigindo que o tema seja regulado tanto no plano
nacional como no mbito do direito internacional. Ao
mesmo tempo, gera polmicas e discusses profundamente
tcnicas, que vo da necessidade de compreender, por um
lado, os mecanismos de direitos coletivos e direitos dos
povos, a, por outro, os direitos de propriedade intelectual
que condicionam o ritmo do mercado da bioprospeco e
o fnanciamento de pesquisas. Inclui temas como patentes,
segredos de indstria e monoplio, passando por questes
de tica, estratgias e polticas de desenvolvimento, que
precisam considerar sobretudo a necessidade de proteo
ambiental e de conservao da prpria biodiversidade.
O acesso aos recursos genticos e ao conhecimento
tradicional no Pas est hoje regulado por uma medida
provisria (MP 2.186), editada ainda no governo Fernando
Henrique Cardoso sob a justificativa de que a falta de
procedimentos legais vinha criando bices para a pesquisa
cientfca no Pas. No plano internacional, a regulamentao
est sendo feita no mbito da Conveno da Diversidade Bio-
lgica (CDB), alm de fruns como a FAO, a OMC e a OMPI.
A MP assegura o direito dos detentores de conhecimento
tradicional terem indicada a origem do seu conhecimento
em qualquer uso que se faa do mesmo, facultando aos
ndios o direito de negar tal uso. Fala da necessidade de
repartio dos benefcios decorrentes do uso, listando
possibilidades como royalties e diviso de lucros, remetendo
por fm a questo da autorizao para o acesso
aos recursos genticos e ao conhecimento tra-
dicional ao Conselho de Gesto do Patrimnio
Gentico, do Ministrio do Meio Ambiente
(ver Populaes Tradicionais, pg. 223;
Recursos Genticos, pg. 254).
Comunidades remanescentes
de quilombos
A Constituio assegurou o reconheci-
mento das terras ocupadas por comunidades
remanescentes de quilombos, fxando para o
Estado a obrigao de emitir-lhes os ttulos
de propriedade respectivos. A lei brasileira ndio Waipi segura planta medicinal (AP).
M
I
C
H
E
L
P
E
L
L
A
N
D
E
R
S
/
H
O
L
L
A
N
D
S
E
H
O
O
G
T
E
D
I
R
E
I
T
O
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 240
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
SAIBA MAIS Lima, Andr (Org.). O direito para
o Brasil socioambiental. So Paulo: ISA; Porto Ale-
gre: Sergio Antonio Fabris Editor; 2002; Mars,
Carlos Frederico. A funo social da Terra. Porto Ale-
gre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003; Santilli,
Juliana (Coord.). Os direitos indgenas e a Constituio.
Braslia: Ncleo de Direitos Indgenas; Porto Ale-
gre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1993; Rocha,
Ana Flvia (Org.). A defesa dos direitos socioambientais
no Judicirio. So Paulo: ISA, 2003; Arajo, Ana Va-
lria (Org.). A defesa dos direitos indgenas no Judicirio.
So Paulo: ISA, 1995.
define quilombos como grupos tnico-raciais, segundo
critrios de auto-atribuio, com trajetria histrica prpria,
dotados de relaes territoriais especfcas, com presuno de
ancestralidade negra relacionada com a resistncia opresso
histrica sofrida.
A legislao estabelece tambm o conceito de terras
ocupadas por quilombos, identifcando-as como as uti-
lizadas para a garantia de sua reproduo fsica, social,
econmica e cultural. Tanto como j se faz na defnio de
funo socioambiental da propriedade e na conceituao
de terras indgenas, a lei procurou abranger diferentes
aspectos para dar conta da complexidade do direito a ser
protegido. Trata-se da garantia dos direitos fundamentais s
comunidades quilombolas, cuja importncia social e cultural
reconhecida e se pretende promover, o que se inicia com
o reconhecimento de direitos coletivos territoriais condicio-
nantes da manuteno e continuidade cultural.
Agregando proteo oferecida aos quilombolas, a
Constituio estabeleceu ainda o tombamento de todos os
documentos e stios detentores de reminiscncias histricas
dos antigos quilombos (ver Quilombolas, pg. 234).
Funo socioambiental da propriedade
A Constituio estabelece os seguintes requisitos para
que uma propriedade cumpra a sua funo socioambiental:
1) aproveitamento racional do solo; 2) utilizao adequada
dos recursos naturais disponveis e preservao do meio
ambiente; 3) observao das disposies que regulam
as relaes de trabalho; e 4) explorao que favorea o
bem-estar dos proprietrios e dos trabalhadores. Pode-se
ver que estes elementos misturam temas clssicos da rea
social, como a relao entre empregados e empregadores,
com temas atuais referentes rea ambiental, elevando o
que se costumava entender por funo social da terra ao
patamar de funo socioambiental. Assim que proprieda-
des que no cumprem a legislao ambiental, desmatando
por exemplo matas ciliares, passaram a ser alvo da pauta de
reivindicaes do MST por desapropriao, ao lado daquelas
propriedades em que se constata a existncia de trabalho
escravo ou das que no atendem aos ndices de produtivi-
dade fxados pelo Incra. Diga-se de passagem, mesmo o
conceito de produtividade, por muitos visto como um totem
sagrado, est hoje vinculado ao respeito ao meio ambiente
e busca do desenvolvimento sustentvel por fora consti-
tucional. Isto , uma terra explorada at a exausto dos seus
recursos naturais no dever ser considerada produtiva (ver
A luta contra o trabalho escravo , pg. 436; Reforma
Agrria, pg. 329).
Espao urbano
A integrao entre a questo urbana e a ambiental
evidente, basta ver a importncia dos temas da proteo
da gua e do ar para os moradores das grandes cidades,
aliados garantia do direito de moradia. Neste sentido,
a Constituio orienta e indica que as polticas urbanas
tenham por base normas de cunho socioambiental,
determinando que tenham por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funes sociais da cidade e garantir
o bem-estar de seus habitantes.
Com isso, o tratamento dos confitos dirios decorrentes
da necessidade de preservao do meio ambiente e de se
garantir um lugar para morar em nossas cidades passou a
ter possibilidades concretas de soluo, expressas na obri-
gao de elaborao do plano diretor, instrumento bsico
da poltica de desenvolvimento e de expanso urbana. a
ordenao da cidade, contida em normas expressas no plano
diretor, que defne o cumprimento da funo socioambiental
da propriedade urbana e que permite vislumbrar a soluo
das intrincadas equaes da qual depende o bem-estar de
cada um e a melhoria da qualidade de vida de todos (ver
Urbanizao, pg. 380).
P
R
O
C
E
S
S
O
S
D
A
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
B
I
O
L
G
I
C
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 241
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
PROCESSOS DA DIVERSIDADE BIOLGICA
NURIT BENSUSAN*
A enorme diversidade de formas, cores e tipos de organismos existentes na Terra a
expresso da evoluo biolgica e dos mltiplos processos dela derivados
A conservao da biodiversidade deriva direta-
mente da manuteno de processos, que dependem da
existncia de ambientes heterogneos, da variedade de
espcies e da estabilidade climtica. Por exemplo, al-
gum sobrevoando a regio ao norte do Rio So Francisco
poderia ser tomado por sentimentos contraditrios, por
um lado uma imensa desolao ao verificar que pouco
restou da Mata Atlntica que cobria originalmente a
regio e, por outro, alvio ao avistar algumas reas de
floresta aparentemente bem preservadas. Infelizmente
parte desse alvio no se justifica: pelo menos um
tero das espcies de rvores presentes nessas florestas
dependem de macacos e pssaros para dispersar suas
sementes. Esses animais comem os frutos das rvores
e espalham as sementes em suas fezes. Muitas dessas
espcies, porm, j esto extintas na regio ou esto
concentradas em algumas ilhas de floresta, no con-
seguindo atravessar o ambiente sem floresta para chegar
s outras ilhas de Mata Atlntica. A conseqncia que
essas espcies de rvores se extinguiro e o pouco que
sobrou da floresta no preservar sua diversidade de
plantas original. Ou seja, a fragmentao do ambiente
original causa ruptura de processos importantes para a
manuteno da biodiversidade.
A impossibilidade dos organismos de freqentar
diversas ilhas de ambientes naturais pode causar pre-
Imagens de satlite de duas regies da Amaznia brasileira. Acima, num trecho do Rio Uaups (AM), a diversidade de
cores mostra a complexidade das paisagens (campinaranas, igaps e serras) bem conservadas da Terra Indgena Alto
Rio Negro; abaixo, na regio das cabeceiras do Rio Xingu (MT), o corte raso da foresta para a implantao de fazendas
de gado e soja vai criando ilhas e truncando os processos que garantem a diversidade biolgica.
I
M
A
G
E
N
S
D
O
S
A
T
L
I
T
E
L
A
N
D
S
A
T
D
E
2
0
0
0
-
2
0
0
1
,
E
S
C
A
L
A
1
:
5
0
0
.
0
0
0
*Coordenadora do Ncleo de Gesto do Conhecimemento do Instituto Internacional
de Educao do Brasil nurit@iieb.org.br
P
R
O
C
E
S
S
O
S
D
A
D
I
V
E
R
S
I
D
A
D
E
B
I
O
L
G
I
C
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 242
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
juzos significativos para a biodiversidade. Por exemplo,
grandes mamferos, como onas e outros felinos, necessi-
tam de uma rea extensa para sua sobrevivncia. Alguns
fragmentos de ambientes naturais at mesmo alguns
parques e reservas no so suficientemente grandes
para sustentar dois desses animais. Em alguns casos, a
ilha pode sustentar uma populao maior de indivduos
mas se essa populao no for suficientemente grande, a
reproduo contnua com indivduos aparentados pode
acabar por levar ao fim da presena daquela espcie na
rea. Como atualmente poucos so os ambientes naturais
contnuos, uma forma de tentar assegurar alguns dos
processos importantes para a manuteno da biodiver-
sidade criar condies para que os organismos possam
passar de um fragmento para o outro, aumentado as
chances de reproduo, de disperso de sementes e de
sobrevivncia dos indivduos.
Regime de distrbios
Outro importante processo de manuteno da biodi-
versidade est relacionado com o regime de distrbios.
Um experimento clssico, realizado no Parque Nacional
do Serengueti, na frica, ilustra bem esse processo.
Acreditando que o excesso de pisoteio e de alimentao
por parte dos elefantes estava prejudicando as ervas e
capins do Parque, pesquisadores resolveram isolar dos
elefantes uma rea para verificar o que aconteceria. Ao
contrrio do esperado, depois de alguns anos, a rea iso-
lada possua apenas uma espcie de capim, enquanto as
reas circundantes, que continuavam a ser pisoteadas e
comidas pelos elefantes, possuam a mesma quantidade
de ervas e capins verificada no incio do experimento.
Por que? Na rea isolada, as espcies de ervas e capins
competiam livremente, sem nada para atrapalhar.
Uma das espcies ganhou a competio, conseguindo
eliminar as outras. Nas outras reas, o constante uso
que os elefantes faziam, funcionava como um regulador,
impedindo uma espcie de dominar as outras.
Outros distrbios tambm possuem esse papel, por
exemplo, o fogo no Cerrado: quando os incndios so
totalmente suprimidos, a vegetao se adensa, algumas
espcies de plantas desaparecem e parte da fauna no
encontra mais alimento e abrigo. Depois de um perodo
de supresso constante do fogo, a quantidade de ma-
tria combustvel tanta que um incndio de grandes
propores inevitvel, levando a um cenrio de grande
mortandade da vegetao e da fauna. Por outro lado,
incndios demasiadamente freqentes no oferecem
possibilidades de recuperao, acabando por causar,
tambm, significativos danos fauna e vegetao,
resultando numa diminuio da biodiversidade. Assim,
para a manuteno da mxima diversidade do Cerrado
um regime intermedirio de fogo necessrio. A ma-
nuteno da grande diversidade depende de regimes
intermedirios de distrbios, que alm de elefantes e
fogo, podem ser enchentes, ventos, furaces, presena de
insetos, como formigas e gafanhotos, e at determinados
usos tradicionais de certas comunidades humanas.
A existncia de pores significativas de ambientes
naturais tambm importante para a manuteno da
evoluo biolgica que a base de toda a diversidade
existente, desde aquela presente entre indivduos da
mesma espcie, passando pela diversidade de espcies,
at a diversidade de ecossistemas e paisagens. Somente
nessas reas, os processos ecolgicos diretamente
associados evoluo podem ser mantidos. Na manu-
teno desses processos reside a nica possibilidade de
conservar a biodiversidade no longo prazo.
VOC SABIA?
M
Ningum sabe quantas espcies existem
na Terra. Cerca de 1,5 milho foram descritas
pela cincia, mas h apostas variando entre 5
e 30 milhes.
M
A maioria das espcies conhecidas so in-
setos. Cerca de 53% das 1,5 milho de espcies
descritas so insetos e todos os outros animais
totalizam menos de 20%.
VEJA TAMBM Agricultura Sustentvel (pg.
414); Servios Ambientais (pg. 459).
F
A
U
N
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 243
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
FAUNA
ADRIANO PAGLIA*
O Brasil um dos pases com maior diversidade de fauna do mundo h estimativas de um total de
at 1,8 milho de espcies. Mas uma grande parcela desses animais corre o risco de desaparecer
A fauna brasileira uma das mais ricas do mundo, junto
a da Colmbia e a da Indonsia, pases que, como o Brasil,
fazem parte da lista das naes consideradas megadiversas,
responsveis por 70% da biodiversidade do Planeta. O Pas
disputa com a Indonsia o primeiro lugar em biodiversidade
entre as naes do Planeta. No Pas, ocorrem 13% de todas
as espcies de anfbios descritos no mundo, 10% de todos os
mamferos, 18% de todas as borboletas e 21% de todos os
peixes de guas continentais do mundo. So 654 espcies
de mamferos, 641 rpteis, 776 anfbios, 1.762 aves e mais
de 2.800 espcies de peixes. Alguns estudos estimam que a
diversidade no Brasil deve atingir impressionantes 1,8 milho
de espcies. Desse total, a cincia conhece menos de 10% da
diversidade estimada para o Pas. Para se ter uma idia dessa
diversidade oculta, em pouco mais de dez anos foram descritas
18 novas espcies de mamferos e 19 espcies de aves, grupos
de animais relativamente bem conhecidos.
* Bilogo, analista da biodiversidade da Conservao Internacional-Brasil
e professor da Metodista de MinasIzabela Hendrix
COMO POSSO AJUDAR?
Ajude a preservar os ambientes naturais
combatendo o desmatamento e as queimadas.
No introduza espcies exticas. Apoie a criao
de Unidades de Conservao. Recuse a compra de
animais silvestres de trafcantes. O comrcio legal
pode ser feito somente por criadouros ou comer-
ciantes registrados no Ibama. Contacte o setor de
fauna das unidades estaduais do Ibama para se
informar sobre os vendedores credenciados, bem
como enviar denncias de transporte ou cativeiros
suspeitos (www.ibama.gov.br/fauna).
Cervo do Pantanal. Arara-Azul-de-Lear.
A
N
T
O
N
I
O
M
I
L
E
N
A
/
A
E
M
M
A
/
I
B
A
M
A
F
A
U
N
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 244
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
MEDICINA DA CONSERVAO
ALESSANDRA NAVA*
Os animais selvagens fcam doentes? Os animais
domsticos podem transmitir doenas aos animais
selvagens? E, se fcarem doentes, isso representa uma
ameaa signifcativa sobrevivncia dessas espcies?
O desmatamento e as mudanas no clima do Planeta
podem favorecer o aparecimento de doenas?
Para tentar responder a essas perguntas, surgiu a
Medicina da Conservao, uma cincia que faz parte da
Biologia da Conservao e rene profssionais de diver-
sas reas: mdicos, veterinrios, bilogos, gegrafos e
outros. Tais estudiosos tentam compreender a dinmica
das doenas nas populaes animais e seu efeito na
sade animal e humana, ou seja, no Planeta.
Os esforos para compreender o fenmeno das
doenas infecciosas emergentes tm se focado em
identifcar fatores em comum que ocorrem em cada
ocasio que alguma dessas doenas se manifesta.
Para humanos, por exemplo, as doenas infecciosas
emergentes so quase sempre devidas ao aumento
demogrfco da populao associado a alteraes am-
bientais antropognicas. Essas alteraes modifcam
o equilbrio dinmico da relao parasitahospedeiro,
aumentam a incidncia de doenas dentro da popu-
lao humana ou entre animais que so hospedeiros
reservatrios de algumas doenas. Um exemplo foi o
surto de febre maculosa ocorrido em Piracicaba no cam-
pus da Esalq. Muitas pessoas morreram durante esse
evento. O relevante nesse fato perguntar o porqu de
outros lugares aonde temos a capivara, o carrapato e
o agente Ricketsia no terem sequer um caso de febre
maculosa e, em Piracicaba, o estrago ter sido to feio!
Na poca, muitas pessoas e autoridades apontavam a
capivara como vil e exterminar as capivaras era dado
como uma soluo, j outros culpavam o carrapato... A
capivara realmente estava agindo como um amplifca-
dor, na linguagem epidemiolgica, ou seja, carrapatos
que no possuam o agente estavam adquirindo atravs
de animais portando o patgeno.
O comit do Instituto de Medicina, em 1991, re-
vendo o problema das doenas infecciosas emergen-
tes em humanos, identificou seis fatores: (1) mudan-
as na demografia humana e comportamento, (2)
avanos na tecnologia e indstria (particularmente
na criao de animais domsticos) , (3) aumento
do uso da terra e desenvolvimento econmico, (4)
falta de medidas de sade pblica, (5) globalizao
(aumento de viagens intercontinentais e comrcio
de produtos de origem animal).
O aparecimento de doenas como Ebola, Nipah
vrus, Sndrome Respiratria Aguda Severa (Sars) e
o surto de febre maculosa na Esalq demonstram
complexa interao entre meio ambiente, biodi-
versidade e mudanas antropognicas alterando
a transmisso hospedeiroparasita. Em pases
em desenvolvimento como o Brasil, a acelerada
colonizao de pessoas em ambientes que eram
previamente florestas ou apenas de uso agrcola
colocaram os humanos em contato com uma gama
de animais silvestres reservatrios de doenas zo-
onticas, incluindo as transmitidas por carrapatos,
encefalites e hanta vrus.
cada vez mais evidente que a perda da biodiver-
sidade resulta em doena emergente. Pesquisadores
verifcaram que diferenas regionais na biodiversidade
dos Estados Unidos podem explicar as variaes na
incidncia da doena de Lyme nessas regies. Isso
explicado pelo efeito diluio, ou seja, aumentando a
biodiversidade de vetores menos competentes, o risco
de infeco no hospedeiro fnal diminui. Esse modelo
se encaixa perfeitamente no nosso caso de febre
maculosa em Piracicaba, mostrando como a perda de
biodiversidade pode levar ao surgimento de doenas
infecciosas emergentes.
* Mdica veterinria, coordenadora do Projeto Espcies Sentinelas Medicina da
Conservao, do IP- Instituto de Pesquisas Ecolgicas, no Pontal do Paranapanema
alenava@stetnet.com.br
F
A
U
N
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 245
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
Uma parcela considervel dessa diversidade est sob
risco de desaparecer. A explorao desordenada do territrio
brasileiro, que envolve desmatamento e degradao dos
ambientes onde vivem os animais, o avano da fronteira
agrcola, a caa e o trfco de animais silvestres e a intro-
duo de espcies exticas so os principais fatores de
ameaa para a fauna brasileira. Os efeitos dessas ameaas
podem ser medidos pelo crescente nmero de animais em
risco de extino includos na lista vermelha do Ibama,
elaborada por mais de 200 cientistas, em conjunto com a
Fundao Biodiversitas, o Terra Brasilis, a Sociedade Brasi-
leira de Zoologia e a Conservao Internacional.
Na atual lista ofcial das espcies brasileiras ameaadas
de extino, ou simplesmente a Lista Vermelha, constam 627
espcies, das quais 618 esto em uma das trs categorias de
ameaa (Criticamente em Perigo, Em Perigo e Vulnervel) e
nove em uma das duas categorias de extino (Extinta e Extinta
na Natureza). As espcies de animais listados como extintos no
Brasil (ou sobrevivendo apenas em cativeiro) so: uma liblula,
uma formiga, uma perereca, duas minhocas e duas aves. Para
citar apenas duas, h mais de 50 anos no temos registro da
perereca Phrynomedusa fmbriata, ou da arara-azul-pequena
Anodorhynchus glaucus. De acordo com os critrios da Unio
Mundial para a Conservao (IUCN), que foram adotados na
reviso da Lista ofcial do Ibama, uma espcie considerada
extinta se, reconhecidamente, sabe-se que o ltimo indivduo da
espcie morreu ou se, apesar dos esforos intensivos de coleta, a
espcie no mais encontrada na sua rea de distribuio.
A lista classifca os animais em extintos, criticamente em
perigo, em perigo e vulnerveis, de acordo com a variao
VOC SABIA?
M
A Unio Mundial para a Conservao (IUCN)
estima que existam cerca de 7.700 espcies de
animais ameaados de extino no Planeta.
Algo em torno de 700 espcies se extinguiram
em tempos recentes (aps 1500 d.C.), a maioria
em ilhas ocenicas.
M
Todos os anos, cerca de 310 mil tartarugas
marinhas so fisgadas acidentalmente pela
pesca comercial feita com armadilhas e redes
em todo o mundo (ver Pesca, pg. 319).
M
Avaliaes internacionais apontam que a
caa predatria reduziu o nmero de baleias a
menos de 10% do nmero de animais existentes
no incio do sculo XX.
M
O Ministrio do Meio Ambiente conta com
uma equipe tcnica responsvel pela elaborao
e implementao, junto com a comunidade
cientfca, de planos de ao para a preservao
de espcies ameaadas de extino no Brasil.
M
Um grande nmero de organizaes no-go-
vernamentais vem trabalhando na implemen-
tao da Aliana Brasileira para a Extino Zero
(BAZE), cujo objetivo evitar o desaparecimento
de espcies da nossa fauna e fora. Para maiores
informaes acesse o site da Aliana (www.
biodiversitas.org.br/baze ).
Grupos
Categorias de Ameaa
Total
%
Taxonmicos Ameaada
EX EW CR EN VU
Aves 2 2 24 47 85 160 25,5%
Mamferos - - 18 11 40 69 10,9%
Rpteis - - 6 5 9 20 3,2%
Anfbios 1 - 9 3 3 16 2,5%
Peixes - - 35 38 81 154 24,5%
Invertebrados 4 - 33 59 111 208 33%
Total geral 7 2 125 163 330 627
Nmero de espcies da
fauna brasileira na Lista
Vermelha, por grupo
taxonmico e por categoria
de ameaa.
EX = Extinta
EW = Extinta na Natureza
CR = Criticamente em Perigo
EN = Em Perigo
VU = Vulnervel
ESPCIES DA FAUNA BRASILEIRA NA LISTA VERMELHA
F
A
U
N
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 246
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
DESMATAMENTO E CRIAO DE UNIDADES DE CONSERVAO
O principal fator de ameaa para as espcies da fauna brasileira a destruio dos habitats naturais. Mais de 90% da
extenso original da Mata Atlntica foi destruda. Estima-se que 60% do Cerrado j foi desmatado e, se as taxas atuais de
destruio continuarem, esse importante bioma brasileiro pode desaparecer at 2030. A Amaznia est relativamente
bem preservada, porm em algumas regies, como no sul do Par e norte do Mato Grosso, no chamado Arco do Desma-
tamento, as taxas de destruio do ambiente so extremamente elevadas, comparadas quelas que levaram ao quase
desaparecimento da Mata Atlntica.
Sem ambientes naturais, muitas das espcies da fauna ameaada iro desaparecer. Portanto, uma das melhores
estratgias para garantir a conservao dessas espcies assegurar que todas elas estejam protegidas em Unidades de
Conservao de Proteo Integral, como Parques Nacionais, Reservas Biolgicas e Estaes Ecolgicas. Infelizmente, muitas
das espcies ameaadas na maioria dos biomas brasileiros no esto satisfatoriamente protegidas pelo atual Sistema
de Unidades de Conservao. Alm disso, nosso conhecimento sobre a distribuio geogrfca e aspectos da ecologia e
biologia dessas espcies ainda incipiente ou est difuso. importante, portanto, investimentos em pesquisa cientfca
para subsidiar as decises sobre as melhores estratgias de conservao e manejo de espcies ameaadas.
FAUNA EXTICA
Espcies exticas so aquelas que, acidentalmente ou no, foram introduzidas em uma regio da qual ela no
originria. Pode ser, por exemplo, uma espcie que veio de outro pas trazida na gua de lastro de navios (usada
nos tanques para dar peso e estabilidade s embarcaes). Junto com essa gua, ou mesmo presos nos cascos dos
navios, organismos como moluscos e larvas de peixes so transportados pelos oceanos at ambientes estranhos,
gerando trgicas conseqncias ecolgicas. A gua de lastro tem sido identifcada como uma das quatro maiores
ameaas biodiversidade dos oceanos. No Brasil, um dos grandes problemas com espcies exticas invasoras
causado pelo mexilho dourado, molusco de gua doce, originrio da sia. Sem predador natural, infestou rios e
lagos e, em Porto Alegre, se instalou nas tubulaes de abastecimento de gua dessa regio metropolitana e tem
atrapalhado o trabalho de manuteno feito pela empresa de saneamento local.
Outro caso de espcie extica o caramujo africano. Trazido por criadores como um substituto ao escargot francs,
esses caramujos gigantes, que podem chegar a 12 centmetros de altura, saram de controle e se proliferaram por
Engenheiro Beltro, uma cidade do Paran. Tem aparecido nas ruas e nas casas das pessoas e tornou-se o hospedeiro
de um parasita encontrado em ratos, que pode atacar o sistema nervoso e o aparelho digestivo se transmitido ao
homem. O caramujo africano foi encontrado tambm em algumas reas urbanas de Manaus e mobilizou o Ibama
e outros rgos do governo para que a praga no se espalhasse para outros lugares do estado do Amazonas.
Existe tambm o problema de espcies brasileiras que invadem biomas ou regies de onde no so nativas.
Um dos exemplos mais comuns, e catastrfcos, o tucunar, um peixe da bacia amaznica que foi introduzido
nos rios e lagos do Centro-Oeste e Sudeste. Por se tratar de um competidor efciente e ser um predador voraz, ele
responsvel pelo desaparecimento de muitas espcies de peixes nativos. Um outro exemplo o sagi-de-tufos-
brancos, um pequeno primata originalmente da regio Nordeste do Brasil, mas que foi solto na Mata Atlntica do
Sudeste e uma ameaa para os primatas da regio, como por exemplo do mico-leo-dourado.
F
A
U
N
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 247
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
Tanto a floresta como os rios so habitados por
muitos seres. H paus diversos rvores com mago
, cips, palmeiras. H animais predadores ou feras
e h caas que so anta, queixada, porquinho e ve-
ado. H animais com cincia, como o tamandu que
escapa de qualquer saco. Tambm so habitantes da
floresta seres normalmente invisveis, os encantados
entre eles os indiozinhos que habitam o fundo das
guas em aldeias submersas e de vez em quando
carregam crianas pequenas para morar com eles
por algum tempo. H Mapinguari e Batedor. E h o
Caipora, descrito como Dono da Mata e s vezes como
Me das Caas senhor ou senhora dos animais
sil vestres, pois, para comear, o gnero de Caipora
sempre foi ambguo ou indefinido. Caipora o res-
ponsvel pelos animais silvestres e, principalmente,
pelos animais de caa. um ser da mata que trata
dos bichos baleados por caadores, conta quantos
animais existem de cada qualidade, pune abusos.
UM DEUS ANDA PELA FLORESTA
MAURO WILLIAM BARBOSA DE ALMEIDA*
A pergunta Caipora existe? no tem resposta
simples, da mesma maneira como no simples
a resposta sobre a existncia de entidades cujos
efeitos esto difusos em inmeros aspectos da vida
cotidiana. como esses entes que todo mundo sabe
que existe mas ningum no v como para ns so
vrus e eltrons. H caadores que nunca toparam
com ele, assim como h caadores velhos que nunca
toparam com uma ona, apesar de saber que elas
existem pelos indcios do que ela faz. Caipora vulto
ou sombra que no deixa rastro.
Mas todo caador sofre os efeitos de sua ao.
At mesmo caadores muito experientes perdem-se
s vezes na mata, voltam para casa com o corpo e
as roupas rasgados por espinhos, com marcas de
aoite, tomado de medo. Ces de caa, mesmo os
mais valentes, voltam da floresta ganindo, como
se tivessem levado uma surra. Um seringueiro que
deixava tabaco para agrad-la toda sexta-feira
esqueceu um dia do pacto e desde ento nunca
mais matou caa. Pois Caipora castiga com panema
aqueles caadores humanos ou ces que vo
floresta em dias proibidos, ou caam com abuso, ou
quebram pactos. Todos esses eventos so evidncias
da presena de Caipora, em situaes de medo, de
susto e de respeito pela floresta.
Alguns seringueiros dizem que assim como
no Pas tudo tem um responsvel, Deus deixou
o Caipora como o responsvel pela floresta. Para
outros seringueiros, concordando com os primeiros
missionrios, Caipora um demnio. Outros dizem
que um ser da mata, um ente de um mundo que no
faz parte nem do mundo dos prefeitos e presidentes,
nem do mundo de Deus e dos santos. Caipora, nesse
sentido, um Deus ou Deusa da Floresta, a Me dos
Animais Silvestres.
* Antroplogo da Unicamp
M
A
U
R
O
A
L
M
E
I
D
A
F
A
U
N
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 248
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
SAIBA MAIS Conservao Internacional (www.
conservacao.org).
VEJA TAMBM Mata Atlntica (pg. 144); Pro-
cessos da Diversidade Biolgica (pg. 241).
TRFICO DE ANIMAIS SILVESTRES
O trfco de animais silvestres o terceiro maior comrcio ilegal do mundo, atrs somente das armas e das
drogas, e uma das grandes ameaas fauna do mundo todo. Os trafcantes chegam a anestesiar os animais
para que paream dceis ou at a furar os olhos de aves para que no vejam a luz do sol e no cantem, para no
chamarem a ateno da fscalizao durante o processo de transporte.
Esse comrcio ilegal movimenta 10 bilhes de dlares a cada ano e o Brasil responde por 10% desse mercado. O
comrcio interno responde por 60% do trfco e o externo, por 40%. As principais rotas de trfco partem das regies Norte
(Amazonas e Par), Nordeste (Maranho, Piau, Pernambuco e Bahia) e Centro-Oeste (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul).
De l, os animais so escoados para o Sudeste (So Paulo e Rio de Janeiro) e Sul (Paran e Rio Grande do Sul), onde so
vendidos em feiras livres ou exportados atravs dos principais portos e aeroportos. Os destinos internacionais so pases
como Estados Unidos, Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, Sua, Itlia e Frana, Japo e Singapura.
Os destinatrios desses bichos so, principalmente, colecionadores, indstrias qumicas e farmacuticas
(biopirataria), lojas de artesanato e pet shops e os valores pagos pelas espcies variam de acordo com a atividade.
Animais como aranhas, escorpies e cobras so destinados biopirataria. Para os pet shops, vo as aves raras e os
peixes ornamentais e para o mercado do artesanato vo partes de animais, como penas, garras, dentes e peles.
Um levantamento da Rede Nacional de Combate ao Trfco de Animais Silvestres (Renctas) mostra que essa
atividade movimenta 1 bilho de dlares por ano no Brasil e que so capturados em torno de 38 milhes de
animais, nmero muitas vezes mais alto do que as estimativas ofciais, de 2 milhes.
dos critrios estabelecidos. Esses critrios so: reduo no
tamanho da populao, na extenso de ocorrncia ou na
rea de ocupao e no nmero de indivduos adultos. Os
critrios utilizados pelos especialistas para classifcar as
espcies so os adotados pela IUCN, referncia interna-
cional na elaborao das Listas Vermelhas. A condio que
antecede indicao de extinta a categoria Criticamente
em Perigo (CR), portanto ateno especial deve ser dada s
espcies que aparecem listadas nessa categoria. No Brasil,
125 animais esto classificados como criticamente em
perigo, entre eles uma tartaruga, nove espcies de anfbios,
18 mamferos e 24 aves.
A maior parte dos animais ameaados de extino est
na Mata Atlntica. Alguns exemplos de espcies que podem
desaparecer em poucas dcadas se nada for feito para ga-
rantir sua conservao so: muriqui-do-norte (Brachyteles
hypoxanthus) e macaco-prego-do-peito-amarelo (Cebus
xanthosternos), duas espcies de primatas que ocorrem na
Mata Atlntica; a sara-apunhalada (Nemosia rourei) e o bigo-
dudo-baiano (Merulaxis stresemanni), duas aves, a primeira da
Mata Atlntica da Bahia e a outra do Esprito Santo; a perereca
(Scinax alcatraz) e a jararaca-de-alcatrazes (Bothrops alcatraz),
ambas endmicas do arquiplago de Alcatrazes, no litoral do
estado de So Paulo; a borboleta Eurytides iphitas e a liblula
Mecistogaster pronoti, tambm da Mata Atlntica.
Em outros biomas alm da Mata Atlntica muitas
espcies merecem ateno. Na Amaznia, o macaco-prego-
caiarara (Cebus kaapori), endmico da Reserva Biolgica de
Gurupi; no Cerrado, a perereca Bokermannohyla izecksohni, do
Estado de So Paulo; na Caatinga, a arara-azul-de-lear (Ano-
dorhynchus leari) e o macaco-sau-da-caatinga (Callicebus
barbarabrownae); nos Pampas, o peixe anual (Austrolebias
adlof), no Pantanal, o rato-do-mato (Kunsia fronto) e, no
ambiente marinho, o peixe-serra (Pristis perotteti) so exem-
plos de espcies Criticamente em Perigo de extino.
F
L
O
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 249
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
FLORA
NURIT BENSUSAN*
A fora brasileira uma das mais ricas do Planeta, com mais de 20% de todas as
espcies de plantas conhecidas at agora so mais de 50 mil espcies registradas
no Pas, das 250 mil conhecidas no mundo
*Coordenadora do Ncleo de Gesto do Conhecimemento do Instituto Internacional
de Educao do Brasil nurit@iieb.org.br
Porque existem tantas espcies de plantas no Brasil?
Uma das boas respostas para essa pergunta reside na
variao ambiental existente no nosso territrio.
Aqui podem ser encontrados desde o ambiente equa-
torial da Amaznia, com chuvas torrenciais distribudas
ao longo do ano, at o semi-rido nordestino, com secas
prolongadas, passando pelo ambiente temperado do
Planalto Meridional, onde chega at mesmo a nevar. essa
variao que conduziu a um conjunto de ecossistemas
diferentes e a uma signifcativa diversifcao da fora e
da fauna (ver Fauna, pg. 243, e Zonas Climticas,
pg. 371).
As forestas pluviais (chamadas internacionalmente de
rainforests) da Amrica do Sul, que equivalem a cerca de 30%
da rea remanescente de forestas do mundo, abrigam
uma enorme quantidade de espcies de plantas devido s
suas caractersticas climticas como chuvas abundantes e
altas temperaturas. Essa categoria engloba parte das forestas
da Amaznia brasileira e da Mata Atlntica. Outros biomas
brasileiros tambm possuem grande diversidade de espcies
de plantas, o que acontece, por exemplo, com o Cerrado,
considerado como a savana de maior diversidade arbrea do
Alto: for de restinga, palma e bromlia; no meio: helicnia, ip-amarelo, bromlia; acima: jabuticaba, nenfar e maxixe.
F
O
T
O
S
:
M
I
R
I
A
M
&
W
I
G
O
L
D
;
B
E
T
O
R
I
C
A
R
D
O
/
I
S
A
E
J
.
P
.
C
A
P
O
B
I
A
N
C
O
F
L
O
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 250
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
VOC SABIA?
M
O pau-brasil, rvore da Mata Atlntica, considerado o melhor material para a confeco de arcos de
violino. Infelizmente, h muito desperdcio nessa atividade: estima-se que para se confeccionar um nico arco
de violino necessrio 1 kg de madeira de pau-brasil e que cerca de 80% das toras de madeira exploradas
com essa fnalidade so desperdiadas (ver Um P de Qu? Pau-brasil, pg. 72).
M
O Brasil um dos pases do mundo que menos estuda formalmente a efccia das plantas como remdio,
apesar de possuir uma enorme riqueza de espcies vegetais. Mdicos brasileiros conhecem pouco os efeitos
dos medicamentos naturais. Na Alemanha, por exemplo, os ftoterpicos (remdios base de plantas) esto
em 30% das receitas mdicas. No Brasil, este total no chega a 5%. No entanto, o uso medicinal das plantas
bastante difundido e h pessoas e comunidades que conhecem muitas plantas para o tratamento e cura
de inmeras doenas.
M
O amendoim tambm uma espcie do Brasil. Os Kaiabi, ndios do grupo Tupi Guarani do Brasil Central,
viviam prximos ao centro de origem e disperso do amendoim, que compreende uma regio da Bolvia,
Paraguai e do Brasil, principalmente no estado do Mato Grosso. Antigamente eles cultivavam cerca de 20
variedades e hoje, em algumas aldeias, so encontradas mais de 30 variedades.
M
Em 1917, William Beebe, norte-americano que alm de historiador natural foi tambm um pioneiro no
mergulho, dizia que h, ainda, um continente cheio de vida a ser descoberto, no na Terra, mas sessenta
metros acima dela, referindo-se abbada das forestas tropicais. Estima-se, hoje, que entre fauna e fora
esse continente pode abrigar cerca de 18 milhes de espcies.
M
Existem ainda hoje plantas que faziam parte da dieta dos grandes dinossauros, so as da famlia
das cicadceas. Essas plantas, sobreviventes de um passado distante, possuem cones enormes, pesados
troncos e folhas aguadas e espinhosas. Alm dos pterodctilos terem voado entre elas, essas espcies
possuem outras curiosidades: tanto o Jardim Botnico de Kew, perto de Londres, como o Hortus Botanicus
de Amsterd, alegam possuir a mais antiga planta cultivada em vaso do mundo. Ambas so cicadceas,
plantadas em meados do sculo XVIII. Outra curiosidade que por muito tempo, e ainda h controvrsias
sobre o tema, acreditou-se que as cicadceas fossem responsveis por uma doena neurolgica, chamada
de lytico-bodig, endmica em algumas pequenas ilhas do Pacfco, onde a populao usava essas plantas
como parte de sua dieta.
mundo, ou seja, que possui o maior nmero de espcies de
rvores. Estimativas recentes revelam que h cerca de 21 mil
espcies de plantas na Amaznia; pelo menos 932 na Caatin-
ga, das quais 380 endmicas, ou seja, que ocorrem exclusiva-
mente ali; e mais de 6 mil espcies de rvores no Cerrado. Na
Mata Atlntica, j foi documentado um hectare (10.000 m
2
)
com mais de 450 espcies de rvores ou arbustos.
Alimentao e muito mais
A utilidade de muitas das espcies de plantas, prin-
cipalmente as usadas diretamente pela humanidade,
bastante evidente para ns. As bases da alimentao
humana residem em poucas espcies vegetais. Arroz, mi-
lho, trigo e soja representam 75% das calorias consumidas
pela humanidade. Outras espcies so utilizadas como
matria-prima para construes, vesturio, cosmticos
e medicamentos, entre outros usos. Muitas outras so
usadas indiretamente pela humanidade, contribuindo
com processos tais como a purifcao do ar, a reciclagem
de nutrientes, a manuteno da fertilidade do solo, a
regulao da temperatura e a proteo contra a fora dos
ventos (ver Servios Ambientais, pg. 459).
F
L
O
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 251
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
ZOOM
MOGNO
Um dos cones da explorao madeireira na
Ama znia, o mogno apreciado principalmente para
a fabricao de mobilirio de luxo e instrumentos mu-
sicais, o que torna sua madeira extremamente valiosa
e cobiada no mercado madeireiro, principalmente
internacional (ver Desmatamento, pg. 276). No
entanto, estima-se que 80% da retirada do mogno
clandestina e tem sido responsvel por catalisar o des-
matamento na Amaznia, apesar dessa espcie fgurar
como uma das rvores em grande perigo de extino.
Em razo disso, uma portaria do Ibama, em 2001,
proibiu o corte desta rvore por tempo indeterminado,
mesmo nas reas onde era permitido.
Todas as autorizaes dadas a empreendimentos
com planos de manejo foram suspensas, como resposta
denncia do Greenpeace de explorao ilegal do
mogno em reas indgenas prximas aos locais onde
o corte dessa madeira era permitido ofcialmente. Em
novembro de 2003, no entanto, durante a Conferncia
Nacional do Meio Ambiente, o presidente Luiz Incio
Lula da Silva assinou um decreto que regulamenta o artigo 14 do Cdigo Florestal e determina que a explorao
do mogno s poder ser feita mediante Planos de Manejo Florestal Sustentvel (PMFS) adequados s exigncias
do Anexo II da Cites (ver Conferncias Internacionais, pg 496). Esse anexo determina que a explorao
do mogno s deve ser feita de forma a no ameaar a sobrevivncia da espcie e precisa ser avalizada por
autoridade cientfca.
M
A
R
I
O
F
R
I
E
D
L
N
D
E
R
Frutos de aa.
B
E
T
O
R
I
C
A
R
D
O
/
I
S
A
Pimenta.
B
E
T
O
R
I
C
A
R
D
O
/
I
S
A
F
L
O
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 252
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
UM P DE QU ?
SUMAMA
Para a antiga civilizao maia, a terra era plana
e o universo era um cubo, um quadrado csmico. Sua
estrutura era sustentada por uma rvore imensa: Yaxche,
a rvore da vida. Os maias acreditavam que essa rvore
unia todas as instncias do universo. Suas razes atingiam
o mundo inferior, o mundo dos mortos. O tronco repou-
sava no mundo do meio, a Terra. Os galhos sustentavam
o mundo superior, o cu, onde viviam os deuses. A civi-
lizao maia dominou a Amrica Central por quase trs
mil anos e desapareceu de repente. Ningum sabe muito
bem como, nem porqu. O que se sabe que a grande
Yaxche, a rvore da vida, durou mais que os maias.
A rvore sagrada dos maias era a Ceiba pentranda
a sumama, ou samama. Desde o fm dos maias,
novas civilizaes inventaram outras lendas a respeito
dessa rvore. Em todas elas, a sumama sempre apa-
rece como uma rvore sagrada: a me da foresta, a
me dos rios, a escada para o cu.
A sumama no era o centro do universo maia
toa. Ela a maior rvore das forestas tropicais, uma das
maiores do Planeta. Conectando o mundo interior com
todos os mundos dimensionais, a rvore da vida maia
era uma espcie de matriz do universo, e detinha todo
o conhecimento e as foras da natureza.
Mas no precisa ser maia ou acreditar em rvores
sagradas para ser guiado por uma sumama. Na Ama-
znia, as sumamas sempre guiaram os barqueiros:
elas servem de pontos de referncia e de localizao
para a navegao dos rios amaznicos, principal meio
de locomoo e comunicao na regio. E quem j
viajou por a sabe que a geografa plana e a massa verde
da foresta no ajudam nada na localizao. Qualquer
sumama mais alta na margem vira ponto referncia.
Assim, a sumama virou o GPS da foresta.
A sumama prefere o solo encharcado de vrzeas
e matas alagadas, mas mesmo assim existem muitas
sumamas na mata. Quando est no meio da foresta,
aparece muitas vezes em reas de ocupao de indge-
nas pr-histricos, chamadas de terra preta (ver Terra
Preta Arqueolgica, pg. 334). Na terra frme ou
nas vrzeas, sempre enorme e imponente: sua altura
pode chegar at a 70 metros. Com todo esse tamanho,
a sumama est sujeita aos ventos, s tempestades, ao
seu prprio peso. Para compensar, ela se equilibra em
razes gigantes, as sapopemas, que vo se espalhando
at 300 metros por dentro da mata.
Desde sempre, e at hoje, o homem da foresta usa
a sapopema para dizer que est chegando em casa, que
se perdeu na mata, que no est a fm de visitas. Basta
bater na raiz com um pedao de madeira, ou mesmo com
a mo, que ela ecoa um som caracterstico. Comunicando
mensagens prosaicas ou trazendo mensagens de todas
as dimenses do universo, como acreditavam os maias, o
estrondo da sumama no passa despercebido. E no tem
s esse tipo de barulho. A barriga dela ronca tambm.
Uma vez, o Tom Jobim (ver Mata Atlntica,
pg. 144), dando uma entrevista no Jardim Botnico
do Rio, disse que costumava encostar o ouvido no tron-
co da sumama para ouvir o barulho da seiva correndo.
Esse fuxo to barulhento de seivas acontece porque
essa uma rvore gigante. Sua copa est acima de
todas as outras rvores, evitando
que o cu caia nas nossas
cabeas (como pensavam
os Maias) ou prote-
gendo os bichos-
preguia, sagis e
gambs que, logo
que farejam uma
ameaa, sobem pelo
tronco at l em cima. Na
copa de uma sumama,
nada pode te alcanar.
SAIBA MAIS Pindorama Filmes
(www.pindoramafilmes.com.br;
www.futura.org.br).
I
L
U
S
T
R
A
O
R
U
B
E
N
S
M
A
T
U
C
K
F
L
O
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 253
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
Algumas famlias de plantas destacam-se por sua
grande riqueza de espcies. o caso, por exemplo, das
bromlias, que possuem mais de 1.200 espcies diferen-
tes. A maioria delas so plantas epfitas, ou seja, plantas
que vivem sobre outras plantas utilizando-as apenas
Espcies nativas e exticas que marcam a diversidade da fora brasileira. Alto: cacau, buriti e bromlia; acima: pupu-
nha, bromlia, pitanga.
SAIBA MAIS Mantovani, Waldir. A degrada-
o dos biomas brasileiros. In: Costa, Wagner
Ribeiro (Org.). Patrimnio ambiental brasilei-
ro. So Paulo: Edusp, 2003. Capobianco, Joo
Paulo Ribeiro. Biomas brasileiros. In: Camargo,
A.; Capobianco, Joo Paulo Ribeiro; Oliveira,
J. A. Puppim de (Orgs.). Meio ambiente Brasil.
So Paulo: FGV; ISA; Estao Liberdade, 2002.
Lewinsohn, Thomas M. Biodiversidade brasilei-
ra: sntese do estado atual do conhecimento.
So Paulo: Contexto, 2002. Sacks, Oliver. A ilha
dos daltnicos. So Paulo: Companhia Das Le-
tras, 1997.
VEJA TAMBM Agricultura Sustentvel (pg.
414); O nim, o ayahuasca e o cupulate (pg. 255);
Mandioca, raiz do Brasil (pg. 420).
como suporte. As bromlias esto presentes em todos os
ambientes brasileiros. Outra famlia bastante abundante
no Brasil a das palmeiras, que possui inmeras espcies
de grande importncia econmica, como os palmitos, co-
cos e aas. Algumas famlias possuem aspectos curiosos
como a das araucrias, cuja distribuio abarca apenas
o hemisfrio sul do Planeta. Outras so bastante carac-
tersticas do Brasil, como a do pequi, cujo fruto d um
sabor singular cozinha goiana, e cujo nome cientfico,
caryocarceas, nos remete Cidade Maravilhosa.
A flora brasileira no formada apenas de espcies
nativas, mas tambm de espcies exticas que aqui
chegaram vindas de outras regies, como o caf, original
da frica; o milho, nativo do Mxico; a banana, originria
da ndia e o eucalipto, proveniente da Austrlia. Algumas
dessas plantas se tornaram to comuns no Pas que so
freqentemente confundidas com as espcies nativas
do Brasil. o caso do caf, por exemplo, introduzido em
Belm do Par, no final do sculo XVIII e plantado inicial-
mente para o consumo domstico. O coqueiro, originrio
da sia, outra espcie extica, presente na maior parte
do litoral nordestino e hoje parte do imaginrio das frias
de vero da maioria dos brasileiros (ver Um P de Qu?
Caf, pg. 35 e Coqueiro, pg. 212 e Processos da
Diversidade Biolgica, pg. 241).
F
O
T
O
S
:
B
E
T
O
R
I
C
A
R
D
O
/
I
S
A
M
I
R
I
A
M
&
W
I
G
O
L
D
R
E
C
U
R
S
O
S
G
E
N
T
I
C
O
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 254
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
RECURSOS GENTICOS
JULIANA SANTILLI*
Os recursos genticos de um pas megadiverso como o Brasil tm alto potencial de uso,
como fontes de novos remdios, alimentos, fbras, pigmentos e como matria-prima para
produtos e processos agrcolas, qumicos e industriais
*Promotora de Justia do Ministrio Pblico do DF e scia-fundadora do ISA
juliana.santilli@superig.com.br
A informao de origem gentica contida em plantas,
animais, fungos, bactrias etc. a base da diversidade entre
espcies e da diversidade entre indivduos da mesma
espcie. Tal informao de origem gentica est contida
no todo ou em parte de tais organismos. Por exemplo:
um inseto, ou mesmo uma pata de um inseto, contm
informaes genticas e so considerados componentes
do patrimnio gentico.
A diversidade gentica a variabilidade de genes
entre as espcies e dentro delas tem grande valor social
e econmico e bio-ecolgico (pois permite a contnua adap-
tao dos seres vivos s mudanas). Os recursos genticos
de um pas megadiverso como o Brasil tm alto potencial
de uso, como fontes de novos remdios, alimentos, fbras,
pigmentos e como matria-prima para produtos e processos
agrcolas, qumicos e industriais (fertilizantes, pesticidas,
leos industriais, celulose, txteis etc.). Na rea agrcola, as
plantas silvestres so fonte de genes para o desenvolvimento
de novas espcies ou variedades, adaptveis a condies so-
cioambientais diversas. A diversidade dos cultivos agrcolas
essencial segurana alimentar das comunidades locais
e do Pas. O monocultivo (cultivo de uma nica espcie),
de larga escala e com intensa utilizao de pesticidas, tem,
entretanto, provocado a perda desta diversidade gentica.
Um pequeno cultivo familiar, por exemplo, com vrias
espcies e variedades de feijo, milho, mandioca, concentra
maior diversidade biolgica e gentica do que uma grande
plantao de soja.
As sementes do urucum, planta tradicionalmente utilizada pelos povos indgenas no Brasil para pintura corporal e tin-
gimento de vrios objetos artesanais, serve tambm como corante nas indstrias de cosmticos e de alimentao.
P
E
D
R
O
M
A
R
T
I
N
E
L
L
I
/
I
S
A
,
1
9
9
7
R
E
C
U
R
S
O
S
G
E
N
T
I
C
O
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 255
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
O NIM, O AYAHUASCA E O CUPULATE
A biopirataria a atividade que envolve o acesso
aos recursos genticos de um determinado pas ou aos
conhecimentos tradicionais associados a tais recursos
genticos (ou a ambos) sem o respeito aos princpios da
Conveno da Biodiversidade, isto , sem autorizao
do pas de origem e de suas comunidades locais e a re-
partio dos benefcios. A Conveno da Biodiversidade
estabelece que os benefcios gerados pela utilizao dos
recursos genticos coletados nos pases megadiversos
(ou em qualquer outro pas) devem ser compartilhados
com estes e com as comunidades locais detentoras de
conhecimentos associados a estes.
O que os casos de biopirataria citados abaixo tm
em comum o fato de que espcies vegetais foram
coletadas em pases biodiversos, com (ou sem) o uso
de conhecimentos tradicionais, e sem o consentimento
dos pases de origem, e levadas para o exterior. H uma
apropriao indevida coibida pela Conveno da
Biodiversidade de um recurso que pertence a outro
pas e s suas comunidades locais, atravs do uso de
um instrumento legal o direito de propriedade
intelectual, principalmente a patente.
Biopirataria na prtica
O nim (em ingls, neem) uma rvore da ndia,
usada h sculos como fonte de biopesticidas e remdios.
A empresa multinacional norte-americana W.R. Grace
Corporation e o Departamento de Agricultura dos EUA
conseguiram obter, junto ao Escritrio de Patentes Euro-
peu, seis patentes sobre produtos e processos derivados
do nim indiano. Entre elas, uma patente sobre um mtodo
de preparao de um leo com propriedades pesticidas,
extrado das sementes da rvore. A revogao de tal
patente foi requerida por um grupo de pessoas e organi-
zaes, entre as quais Vandana Shiva, conhecida ativista
internacional. Em maio de 2000, o Escritrio Europeu de
Patentes revogou a patente com base no argumento de
que o processo patenteado pelos norte-americanos no
atendia ao requisito da novidade. A deciso de revogar a
patente se baseou no depoimento de um dono de uma
fbrica indiana, que demonstrou usar processo semelhan-
te ao patenteado desde 1995, e no no desrespeito aos
princpios da Conveno.
Outro caso famoso de biopirataria foi o do patente-
amento de uma variedade do ayahuasca (nome ind-
gena que quer dizer: cip da alma), planta amaznica
utilizada por diferentes povos indgenas com fnalidades
medicinais e em rituais xamnicos. O cancelamento da
patente, concedida ao norte-americano Loren Miller, foi
requerido ao Patent and Trademark Ofce (rgo dos EUA
responsvel pelo registro de patentes), pela ONG Center
for International Environmental Law (Ciel), em nome
da Coordenao das Organizaes Indgenas da Bacia
Amaznica (Coica) e da Coalizo Amaznica (Amazon
Coalition), em 1999. O rgo patentrio chegou a emitir
uma deciso rejeitando a patente, em 1999, e, em 2001,
voltou atrs em tal deciso, continuando a patente em
vigor at junho de 2003, quando expirou o seu prazo de
validade, no podendo ser renovada.
Tornou-se conhecido tambm o caso do patentea-
mento de processos de extrao do leo da semente do
cupuau para a produo do chocolate de cupuau (o
cupulate), pela empresa japonesa Asahi Foods Co. Ltd. A
mesma empresa registrou ainda o nome cupuaucomo
marca comercial, gerando diversos protestos. Em maro de
2004, o Escritrio de Marcas e Patentes do Japo decidiu
anular o registro da marca comercial cupuau, atendendo
a pedido formulado pela Rede GTA-Grupo de Trabalho
Amaznico e da organizao acreana Amazonlink. O
escritrio japons acolheu os argumentos de que uma
marca comercial no pode ser registrada se indicar um
nome comum de matrias-primas. A Embrapa j havia
solicitado ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(Inpi) uma patente sobre o processo de produo de cupu-
late, desenvolvido pela referida empresa brasileira.
SAIBA MAIS Grupo de Trabalho Amaznico (www.
gta.org.br).
R
E
C
U
R
S
O
S
G
E
N
T
I
C
O
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 256
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
VOC SABIA?
M
85% do alimento consumido no mundo
provm, direta ou indiretamente, de apenas 20
tipos de plantas e dois teros de apenas quatro
carboidratos: milho, trigo, arroz e batata.
M
A medicina usa 119 substncias qumicas,
extradas de menos de 90 plantas, para fabricar
medicamentos. Quantas podero ser extradas
de 250 mil plantas no estudadas?
A PIRATARIA DE GENES HUMANOS
Os recursos genticos humanos no so objeto da Conveno da Biodiversidade. So tratados, legalmente, de
forma distinta dos recursos genticos de origem animal e vegetal. As normas do Conselho Nacional de Sade (espe-
cialmente a Resoluo n 196/96) que disciplinam pesquisas envolvendo seres humanos exigem o consentimento livre
e esclarecido dos indivduos-alvo da pesquisa e a proteo aos grupos vulnerveis. Visam assegurar que tais pesquisas
respeitem a dignidade humana e a autonomia de vontade dos indivduos que so alvo de tais pesquisas.
A pirataria de recursos genticos humanos tem sido denunciada, principalmente aquela que envolve amostras
de DNA de povos indgenas com pouco contato com a nossa sociedade. H grande interesse sobre os recursos
genticos de grupos isolados, em funo da sua homogeneidade gentica, associada ao seu isolamento geogrfco.
Tais caractersticas facilitariam os estudos de doenas geneticamente transmissveis.
Um caso amplamente denunciado foi a coleta de amostras de sangue dos ndios Yanomami da Venezuela e
do Brasil nos anos 1960 e 1970 por membros da equipe de James V. Neel, feita sem o consentimento informado
dos ndios. Milhares dessas amostras de sangue Yanomami estariam hoje depositadas na Universidade Estadual da
Pensilvnia, nas Universidades de Michigan, Illinois e Emory, e no Instituto Nacional do Cncer-Instituto Nacional
de Sade dos EUA. Com novas tcnicas laboratoriais, dessas antigas amostras pode ser extrado material gentico
(DNA) utilizvel em novas pesquisas, acadmicas ou comerciais, de novo, sem que os Yanomami tenham sido
devidamente informados nem consultados.
SAIBA MAIS Comisso Pr-Yanomami (www.proyanomami.org.br).
Os recursos genticos podem ser conservados ex
situ, isto , fora de seus habitats naturais, em bancos de
germoplasma, herbrios, jardins botnicos etc. J a
conservao in situ dos recursos genticos ocorre nas
condies em que estes existem em seus habitats naturais.
No caso de espcies domesticadas ou cultivadas (parentes
de espcies silvestres, que foram domesticadas/cultivadas
pelo homem), a conservao in situ ocorre nos meios onde
tenham desenvolvido suas caractersticas. A desvantagem
da conservao ex situ que o recurso gentico retirado
de seu habitat natural e isolado das condies ambientais e
scio-culturais em que existe.
O papel do homem
Cada vez mais se reconhece que a diversidade gentica
resulta no apenas da prpria natureza, mas de intervenes
humanas. O papel de comunidades locais e populaes
tradicionais povos indgenas, quilombolas, seringueiros,
castanheiros, pescadores e agricultores tradicionais - para a
conservao da diversidade biolgica tem sido reconhecido
e valorizado. Tais populaes desenvolveram, ao longo de
geraes, tcnicas de manejo de recursos naturais, conhe-
cimentos sobre ecossistemas e sobre propriedades farma-
cuticas e alimentcias de espcies. As tcnicas de seleo,
domesticao e intercmbio de sementes desenvolvidas
pelos agricultores tradicionais asseguram a variabilidade
gentica das plantas cultivadas.
R
E
C
U
R
S
O
S
G
E
N
T
I
C
O
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 257
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
O POLMICO ACORDO DE BIOPROSPECO
ENTRE INBIO E MERCK
Um dos acordos de bioprospeco mais polmicos foi o celebrado entre o Instituto Nacional de Biodiversidade
(INBio), da Costa Rica, e a Merck, multinacional da rea farmacutica, assinado inicialmente em 1991. Atravs
deste acordo, o INBio comprometeu-se a fornecer 10 mil amostras de plantas, animais e solos para a Merck, que as
processa em suas fliais na Espanha e nos EUA. A Merck comprometeu-se a pagar 1 milho de dlares pelas amos-
tras, sendo 10% repassados ao Ministrio do Meio Ambiente da Costa Rica, mais 130 mil dlares para a aquisio
de equipamentos laboratoriais, transferncia de tecnologia para as universidades da Costa Rica e treinamento
de pesquisadores nos EUA. O acordo criticado por se considerar que o valor pago pela Merck baixo e por ser a
multinacional a titular das patentes sobre quaisquer drogas desenvolvidas com base nas amostras costa-riquenhas.
Os seus defensores argumentam que o acordo permite a realizao do inventrio da biodiversidade costa-riquenha
e que o pas deixa de pagar royalties sobre produtos desenvolvidos com base em recursos biolgicos originrios
do territrio costa-riquenho.
SAIBA MAIS SantAna, Paulo Jos Pret de. Bioprospeco no Brasil: contribuies para uma gesto tica.
Braslia: Paralelo 15, 2002.
Os recursos genticos so valiosos para a biotecno-
logia a tecnologia que utiliza organismos vivos para
desenvolver novos produtos e processos -, que tem crescido
principalmente na rea farmacutica e alimentcia. A pros-
peco da biodiversidade a bioprospeco - envolve
a coleta de material biolgico (plantas, fungos, bactrias
etc.) e o acesso ao material gentico em busca de novos
princpios ativos para a produo de ftomedicamentos
(fitofrmacos e fitoterpicos), cosmticos, alimentos,
bebidas etc. H estimativas de que o mercado mundial de
produtos biotecnolgicos gere entre 470 e 780 bilhes de
dlares por ano.
H grande interesse da indstria farmacutica, por
exemplo, na coleta de extratos de plantas medicinais, a
fm de pesquisar os seus compostos e desenvolver novas
drogas. Os conhecimentos e prticas de povos indgenas
e populaes tradicionais podem ser usados como portas
de acesso biodiversidade, facilitando a identifcao de
plantas com propriedades medicinais. A matria-prima
da biotecnologia a biodiversidade se concentra nos
pases do Sul, em desenvolvimento, enquanto o domnio
da biotecnologia e as patentes sobre produtos ou pro-
cessos biotecnolgicos se concentra nos pases do Norte,
desenvolvidos. Para equilibrar as relaes de poder entre
os pases detentores da biodiversidade e da biotecnologia
que foi aprovada a Conveno da Diversidade Biolgica
(ver Acordos Internacionais, pg. 476).
L
A
L
O
D
E
A
L
M
E
I
D
A
,
I
G
A
R
A
P
A
V
A
(
S
P
)
,
2
0
0
2
Ip solitrio em plantao de cana-de-acar.
B
I
O
S
S
E
G
U
R
A
N
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 258
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
BIOSSEGURANA
RUBENS ONOFRE NODARI*
A engenharia gentica o foco das preocupaes sociais e das normas relacionadas biossegurana
O QUE BIOSSEGURANA?
Biossegurana uma expresso resultante da
juno de bio + segurana, que signifca o conjun-
to de estudos e procedimentos que visam a evitar
ou controlar os eventuais problemas suscitados por
pesquisas biolgicas ou por suas aplicaes.
Portanto, biossegurana est relacionada
aos riscos das biotecnologias, que, em seu sentido
mais amplo, compreendem a manipulao de
microorganismos, plantas e animais por meio de
tcnicas biotecnolgicas, objetivando a obteno de
processos e produtos de interesse. O uso da expresso
biossegurana recente e decorrente do avano das
biotecnologias a partir de 1970, notadamente, das
tecnologias associadas a produo de transgnicos
ou Organismos Geneticamente Modifcados (OGM)
e seus derivados, em razo de que podem causar
efeitos adversos sade humana ou animal.
*Professor da Universidade Federal de Santa Catarina e gerente de
Recursos Genticos do Ministrio do Meio Ambiente nodari@cca.ufsc.br
As preocupaes com os possveis efeitos adversos
biodiversidade levaram os pases a incluir um dispositivo
no texto da Conveno sobre Diversidade Biolgica (CDB), o
qual prev que as Partes deveriam examinar a necessidade
de um protocolo para estabelecer procedimentos adequa-
dos, como a concordncia prvia fundamentada para a
transferncia, manipulao e utilizao seguras de orga-
nismos vivos modifcados que possam ter efeito negativo
para a conservao e utilizao sustentvel da diversidade
biolgica (ver Acordos Internacionais, pg. 476).
Desse dispositivo resultou a elaborao e adoo do
Protocolo de Cartagena sobre Biossegurana, que est em
vigor desde 11 de setembro de 2003, ratifcado pelo Brasil,
que tem por objetivo assegurar um nvel adequado de
proteo no campo da transferncia, da manipulao e do
uso seguro dos organismos vivos modifcados resultantes da
biotecnologia moderna que possam ter efeitos adversos na
conservao e no uso sustentvel da diversidade biolgica.
Desde 1995, o Brasil dispe de uma Lei de Biossegurana, a
Lei n 8.974. Ela estabelece normas para o uso das tcnicas
de engenharia gentica e liberao no meio ambiente de
organismos geneticamente modifcados e seus derivados,
visando proteger a vida e a sade do homem, dos animais e
das plantas, bem como o meio ambiente. Dez anos depois,
esta lei foi substituda pela Lei n 11.105, de 2005, que es-
tabelece normas de segurana e mecanismos de fscalizao
de atividades que envolvam OGMs e seus derivados, cria o
Conselho Nacional de Biossegurana (CNBS), reestrutura a
Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana (CTNBio) e ainda
dispe sobre a Poltica Nacional de Biossegurana (PNB).
Dentre as modifcaes introduzidas nessa nova Lei,
so relevantes as seguintes: meno explcita ao princpio
da precauo; a CTNBio passa a tomar decises tcnicas ao
invs de emitir pareceres; atribudo CTNBio a prerrogativa
de identifcar as atividades potencialmente degradadoras
do meio ambiente e decidir sobre a necessidade de licen-
ciamento ambiental; ampliao de trs para seis membros
da sociedade civil na CTNBio; e criao de instrumentos
visando a transparncia e publicidade de todos os atos e
processos praticados pela CTNBio, exceto as partes sigilosas
de interesse comercial.
Embora o termo biossegurana possa ser aplicado a
qualquer situao relacionada aos produtos biotecnolgi-
cos, praticamente tanto as preocupaes sociais como as
normas so estritas aos produtos e servios da engenharia
gentica. Essa especifcidade provavelmente decorrente
do poder que a engenharia gentica tem em modifcar ou
reprogramar os seres vivos. Devido a esse grande poder,
grandes tambm so os possveis riscos associados.
relevante mencionar que, aps a descoberta das
tecnologias que envolvem o DNA recombinante, ou seja,
as bases da engenharia gentica, os possveis perigos
dessas tecnologias foram de tal maneira dimensionados,
que medidas de conteno e procedimentos laboratoriais
B
I
O
S
S
E
G
U
R
A
N
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 259
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
OS TRANSGNICOS E A LEGISLAO
SEZIFREDO PAZ*
O debate sobre os transgnicos no Brasil mar-
cado por uma imensa controvrsia tcnica, poltica e
legal. Desde 1995, com a notcia da introduo dessa
tecnologia no Pas e o funcionamento da Comisso
Tcnica Nacional de Biossegurana (CTNBio), suce-
dem-se debates e embates em todas essas frentes.
Em 1998, a Monsanto empresa que detm a
patente da semente de soja transgnica resistente
ao herbicida glifosato pediu autorizao citada
Comisso para o plantio comercial do seu produto. A
prpria Monsanto no apresentou, desde ento, um
relatrio de impactos ambientais, conforme as exi-
gncias da legislao brasileira, e os testes para provar
sua segurana alimentar ainda no so conclusivos
(ver Licenciamento Ambiental, pg. 449). Como
resposta, tambm em 1998, uma sentena judicial,
resultante de uma ao civil do Idec, proibiu o plantio
e a comercializao de transgnicos.
Em 2003 e 2004, duas medidas provisrias autori-
zaram a comercializao da soja transgnica plantada
ilegalmente no Rio Grande do Sul e em outros estados,
autorizaram os agricultores a plantarem suas sementes
ilegais e que os produtos da safra de soja poderiam ser
comercializados por determinados perodos.
Naquela poca, a deciso do governo de liberar
o plantio e a comercializao de soja transgnica
passou por cima de decises judiciais, leis ambientais,
sanitrias, de biossegurana e de defesa do consumi-
dor. Assim, o Brasil passou a lidar com um produto
que no passou por qualquer anlise de segurana
ambiental e sanitria pelos rgos governamentais e
que produzido desrespeitando tambm a Lei Federal
dos Agrotxicos.
Paradoxalmente, de 2003 at 2005, enquanto
ratifcava o Protocolo de Cartagena e o Princpio da
Precauo, o governo brasileiro agia internamente
para que ele no se concretizasse. O governo chegou a
enviar um projeto de lei ao Congresso, que resguarda-
va aspectos importantes, baseados naquele princpio,
mas no o defendeu e permitiu que os setores que
queriam a liberao acelerada dos transgnicos apro-
vassem na Cmara e no Senado a Lei n 11.105/05,
considerada frgil por vrios segmentos sociais.
Rotulagem
Um alento para as entidades de consumidores
foi a aprovao de novas regras de rotulagem de
alimentos transgnicos, em 2003 e 2005, mas a
falta de empenho governamental fez com que, at o
momento, o seu cumprimento no se efetivasse.
Voltando nova Lei de Biossegurana, novo
embate travou-se com a sua regulamentao pelo De-
creto 5.591/2005, a edio da polmica Medida Pro-
visria 327/2007 e a aprovao da Lei 11.460/2007,
que reduziram de dois teros para maioria simples o
qurum necessrio para aprovar a liberao comercial
de transgnicos na CTNBio.
essa deciso, muito criticada pelos movimen-
tos socioambientais, sucedeu, em maio de 2007, a
aprovao, com inmeras falhas tcnicas e legais
pela CTNBio, de uma variedade de milho transgnico,
o Liberty Link da empresa Bayer.
A liberao desse milho depender ainda da
aprovao pelo Conselho Nacional de Biossegurana
(CNBS), mas, independentemente dela, esse fato
marca a abertura de um novo ciclo de controvrsias
entre a sociedade civil organizada, o agronegcio e as
autoridades em relao aos transgnicos no Brasil.
SAIBA MAIS Greenpeace (www.greenpeace.org.
br/transgenicos); Idec (www.idec.org.br).
VEJA TAMBM Agricultura Sustentvel (pg.
414); Consumo Sustentvel (pg. 428).
*Mdico veterinrio sanitarista, consultor tcnico do Idec e presidente
do Frum Nacional das Entidades Civis de Consumidores
B
I
O
S
S
E
G
U
R
A
N
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 260
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
especfcos foram desenhados. Na poca, 1973-1975, todos
se referiam a bio-riscos ou bio-perigo (do ingls biohazard).
Contudo, quando surgiram as primeiras possibilidades de
comercializao dos produtos dessa tecnologia, os termos
acima referidos foram substitudos por biossegurana (do
ingls biosafety). Ou seja, a imposio comercial prevaleceu,
pois a expresso biossegurana se constitui na tentativa
de transmitir que um certo produto biosseguro. Se as
expresses utilizadas inicialmente fossem mantidas, hoje
seriam utilizados termos como produto bio-perigoso, o que
tem um signifcado diferente de biosseguro.
H, contudo, um outro termo mais amplo, biosseguri-
dade, que por sua vez englobaria a biossegurana. Em seu
sentido geral, biosseguridade signifca o estabelecimento
de um nvel de segurana de seres vivos pela diminuio do
risco de ocorrncia de qualquer ameaa a uma determinada
populao. A biosseguridade inclui tanto os riscos biolgicos
como tambm questes relacionadas sade pblica ou
ainda segurana nacional. Um Programa de Biosseguridade
composto por um conjunto de normas, princpios, medidas
de cuidados com a sade e o bem-estar de uma populao,
incluindo o meio ambiente.
O fato de duas autorizaes de transgnicos para
fns comerciais (soja RR e algodo Bollgard) terem sido
concedidas sem os necessrios estudos prvios sobre as
possveis situaes de riscos ambientais impostas por esses
OGM, demonstra a fragilidade e falta de rigor cientfco na
tomada de decises no Pas.
Mais grave ainda a impossibilidade da coexistncia
entre variedades transgnicas e no transgnicas sem conta-
minao. Entre 1997 e 2006, foram registradas no mundo 142
contaminaes, 35% delas com milho. A prtica do cultivo de
transgnicos demonstra assim a grande ameaa de eroso
gentica e diversidade cultural associada ao uso dos
componentes da agrobiodibversidade, mantida pelos povos
e comunidades tradicionais e agricultores familiares.
Princpio da precauo
Por se tratar de uma nova tecnologia e considerando
o reduzido conhecimento cientfco a respeito dos riscos de
OGM, torna-se indispensvel que a liberao de plantas
transgnicas para plantio e consumo, em larga escala, seja
precedida de uma anlise criteriosa de risco sade humana
e licenciamento ambiental, respaldadas em estudos cien-
tfcos, conforme prev a legislao vigente e o princpio
da precauo. Assim, quando h razes para suspeitar de
ameaas de sensvel reduo ou de perda de biodiversidade
ou, ainda, de riscos sade, a falta de evidncias cientfcas
no deve ser usada como razo para postergar a tomada de
medidas preventivas. Nesse contexto, normas adequadas
de biossegurana, rigorosa anlise de riscos de produtos
biotecnolgicos, mecanismos e instrumentos de monito-
ramento e rastreabilidade so necessrios para assegurar
que no haver danos sade humana e efeitos danosos
desses produtos e servios ao meio ambiente.
SAIBA MAIS Nodari, R.O. Biossegurana, trans-
gnicos e risco ambiental: os desafos da nova
Lei de Biossegurana. In: Leite, J.R.M; Fagn-
dez, P.R.A. Biossegurana e novas tecnologias na
sociedade de risco: aspectos jurdicos, tcnicos e
sociais. Florianpolis: Conceito Editorial, 2007.
O QUE SO TRANSGNICOS?
A transformao gentica consiste na inser-
o num genoma de uma ou mais seqncias,
geralmente isoladas de mais de uma espcie,
especialmente arranjadas, de forma a garantir a
expresso gnica de um ou mais genes de interesse,
denominados de transgenes. Nesse contexto, o
prefxo transsignifca alm de ou o rompimento da
barreira da espcie, pois a tecnologia permite isolar
segmentos de DNA de diferentes espcies, combin-
los e inseri-los em outra espcie. O homem adquiriu
assim a capacidade de reprogramar, em princpio,
a vida de todo e qualquer ser vivo, inclusive a sua,
podendo fazer cpias genticas de si mesmo. Alguns
autores acreditam que essas novas competncias se
constituem na segunda grande conquista tecnol-
gica, depois do domnio do fogo. Elas representam,
sem dvida, o domnio de uma competncia sem
precedente na histria da humanidade.
R
E
A
S
P
R
O
T
E
G
I
D
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 261
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
REAS PROTEGIDAS
CRISTINA VELASQUEZ*
Valorizar a integrao entre a conservao ambiental e o uso sustentvel na gesto
de reas protegidas brasileiras um dos desafos para estas reas
A idia de rea protegida muito antiga no mundo.
Desde sculos passados, o homem se preocupa em manter
trechos de terras protegidos, seja para lazer, beleza cnica
ou para manter a biodiversidade. No Brasil, quando falamos
em reas protegidas, nos referimos aos espaos territoriais
que tm a funo de proteger e conservar a biodiversidade
e a sociodiversidade e de garantir o uso sustentvel de seus
recursos naturais. Essas reas incluem as unidades de conser-
vao (UCs), as terras indgenas (TIs), as terras de quilombo
(TQs), bem como as reas de preservao permanente (APPs)
ao longo dos rios e topos de morros e as reas de reserva legal
(RLs) das propriedades rurais de todo Pas.
O conceito de reas protegidas relativamente novo no
Brasil. At 2005, o governo brasileiro considerava apenas as
unidades de conservao como reas capazes de conservar
a biodiversidade, especialmente aquelas que promoviam
a proteo integral das reas. Esta forma de pensar a con-
servao da natureza faz parte de um conceito clssico de
que apenas as reas intocadas pelo homem so capazes de
conservar a biodiversidade, entretanto, cada vez mais, esse
conceito vem sendo substitudo pela idia de que os povos
da foresta so co-responsveis por esta conservao de reas
que existem hoje, como o caso das populaes indgenas
que mantm grande parte de seus territrios conservados.
Essa percepo diferenciada de conservao pelas
comunidades tradicionais, comunidades moradoras no en-
torno de UCs e populaes indgenas motivaram o governo
a repensar a forma de defnir essas reas.
Nesse sentido, interessante observar que essa preo-
cupao j vinha acontecendo em outros pases do mundo,
especialmente os pases tropicais. Um exemplo no mbito
internacional a existncia da Unio pela Natureza (UICN),
uma das mais respeitadas organizaes que atuam pela
conservao da natureza e que defne princpios gerais para
a conservao de reas, com uma defnio prpria sobre o
conceito rea protegida: rea de terra ou mar especialmente
*Engenheira forestal, mestre em Cincias Florestais, assessora
do Programa de Polticas Pblicas e Direito Socioambiental do ISA
Z
I
G
K
O
C
H
Floresta de araucria, Terra Indgena Mangueirinha (PR).
R
E
A
S
P
R
O
T
E
G
I
D
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 262
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
TERRAS INDGENAS
FANY RICARDO*
*Antroploga, coordenadora do Programa de
Monitoramento de reas Protegidas do ISA
As Terras Indgenas podem ser consideradas reas
protegidas nos dois sentidos da palavra porque prote-
gem a biodiversidade de suas terras (as imagens de
satlite mostram esse fato claramente, so verdadeiras
ilhas verdes, com o entorno desmatado) e tambm
so protegidas pela legislao brasileira, que no per-
mite a entrada de no-ndios, a no ser com autorizao
da Fundao Nacional do ndio (Funai) e dos prprios
lderes indgenas. A Constituio estabelece que essas
terras so bens da Unio, sendo reconhecidos aos ndios
a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas
do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
A garantia dos ndios a suas terras est estabeleci-
da no artigo 231 da Constituio, reconhecendo como
terra indgena quelas em que os ndios habitam em
carter permanente, as utilizadas para suas ativida-
des produtivas, as imprescindveis preservao dos
recursos ambientais necessrios a seu bem-estar e as
necessrias sua reproduo fsica e cultural, segundo
seus usos, costumes e tradies.
A Constituio consagrou o direito originrio dos
ndios sobre as terras que ocupam, que anterior a
qualquer outro. E determinou que o Estado promova
esse reconhecimento sempre que uma comunidade
indgena ocupar determinada rea nos moldes do
artigo 231, realizando a demarcao fsica dos seus
limites. Essa garantia terra, em extenses sufcientes
para a vida tradicional, possibilitou o reconhecimento
de reas mais extensas. At fns de maro de 2007, a
soma do total das TIs no Brasil era mais de 109 milhes
de ha, que representa 12,83% da extenso do territrio
brasileiro e, na Amaznia Legal, quase 108 milhes de
ha, representando 21,52% da regio.
O procedimento demarcatrio das Terras Indgenas
regulado por decreto do Executivo e, ao longo dos
anos, sofreu inmeras modifcaes. A ltima modi-
fcao importante ocorreu com o decreto 1.775, de
janeiro de 1996, que estabeleceu as seguintes etapas
no reconhecimento formal das terras indgenas:
(1) A Funai designa um antroplogo para ela-
borar estudo antropolgico de identifcao da TI em
questo. Esse laudo fundamentar o Grupo Tcnico que
ser criado pelo rgo indigenista, composto por um
antroplogo (coordenador), um especialista ambiental
e outro em topografa, que ir rea para estudos com-
plementares de natureza etnohistrica, cartogrfca e
ambiental, alm da consulta aos ndios e do levanta-
mento fundirio para a delimitao da rea.
(2) Na seqncia, o presidente da Funai aprova a
identifcao e manda publicar o resumo desses estudos
com as coordenadas geogrfcas e mapa, nos dirios
ofciais da Unio e do Estado onde a terra est localizada,
e sua afxao na sede da prefeitura local. A partir da
comea a correr prazo de 90 dias para contestaes das
pessoas e instituies contrrias terra indgena. Aps
esse prazo, a Funai tem 60 dias para elaborar pareceres
sobre as contestaes e encaminhar o procedimento ao
ministro da Justia, que ter 30 dias para declarar de
posse permanente indgena, atravs de portaria, e deter-
minar que a Funai realize a demarcao administrativa.
Ou poder prescrever novas diligncias a serem cum-
pridas em mais 90 dias; ou desaprovar a identifcao,
publicando sua deciso e fundamentando seu ato.
Depois da demarcao fsica, a terra dever ser
homologada pelo presidente da Repblica, atravs de
decreto. Os ocupantes no-ndios devem ser retirados
da rea e somente os considerados de boa-f sero
indenizados pelas benfeitorias implantadas na rea.
Finalmente, a TI ser registrada no Cartrio de Registro
de Imveis, onde est localizada a terra, e no Servio
do Patrimnio da Unio.
SAIBA MAIS Povos Indgenas no Brasil (www.socio
ambiental.org/pib/index.html).
R
E
A
S
P
R
O
T
E
G
I
D
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 263
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
dedicada manuteno da biodiversidade biolgica e dos
recursos naturais e culturais associados, gerida atravs de
meios legais ou outros meios efetivos. Existem tambm
acordos internacionais, dos quais o Brasil signatrio, e
que valorizam a presena humana como forma de preservar,
conservar e proteger estas reas bem como seus recursos
naturais, como a Conveno da Diversidade Biolgica (CDB)
(ver Acordos Internacionais, pg. 476).
Desde ento, o Brasil estabeleceu a Poltica Nacional de
reas Protegidas (PNAP), decretada em 2006. A PNAP tem
suas diretrizes estabelecidas por meio de um Plano Nacional,
que indica metas de conservao a serem cumpridas at
2020. Essa Poltica busca agregar todas as aes, acordos
nacionais e internacionais direcionadas proteo e
conservao ambiental no Pas de forma intersetorial.
A PNAP tem como base a Constituio de 1988 na qual
todo cidado tem direito a um meio ambiente preservado
e protegido, para usufruto de todas as geraes presentes,
bem como a obrigao do poder pblico defnir, em todos
os estados, espaos de seus territrios para a preservao
do meio ambiente. No Brasil, essas reas foram chamadas
de Unidades de Conservao (UCs) que compreendem cerca
de 14% do territrio nacional.
Esse nmero est, de certa forma, superestimado, uma
vez que os diferentes governos criaram unidades de con-
servao sem planejamento adequado quanto defnio
do territrio. Tal fato fez com que a criao dessas reas
muitas vezes se dessem sobrepostas a outras categorias de
UCs, assentamentos, terras indgenas e reas privadas. A
conseqncia dessa falta de planejamento repercute negati-
vamente at hoje criando situaes altamente confituosas,
como o caso da Terra Indgena dos ndios Kaxinau com o
Parque Nacional da Serra do Divisor, no Acre, e os Guarani
em UCs no Vale do Ribeira, em So Paulo.
Um grande desafio relacionado a essas reas a
implementao e gesto efetiva das UCs j criadas, pois
acredita-se que apenas com o investimento nesses dois
aspectos conseguiremos dizer que esses 14% do territrio
nacional faro o papel de conservao propriamente dito.
O SNUC e as categorias de UCs
O surgimento das unidades de conservao no Brasil
tem seu marco com a criao do Parque Nacional de Itatiaia,
em 1937, no limite dos estados de Minas Gerais, So Paulo
e Rio de Janeiro, a primeira UC ofcialmente criada. Atual-
mente so 850 UCs em todo o territrio Nacional e cerca de
700 Reservas Particulares do Patrimnio Natural (RPPNs),
categorias de unidades privadas, mas que constam do Snuc
(ver Legislao Brasileira, pg. 483).
O Snuc apresenta outros objetivos, tais como contri-
buir para a manuteno da biodiversidade e dos recursos
genticos, proteger as espcies ameaadas de extino,
promover o desenvolvimento sustentvel a partir dos
recursos naturais, proteger e recuperar recursos hdricos,
recuperar ecossistemas degradados, proporcionar meios e
incentivos para atividades de pesquisa cientfca e promover
a educao ambiental, alm da recreao.
Outra preocupao desta lei est relacionada a forma
e mecanismos de gesto das UCs. Desse modo, estabelece
tambm algumas ferramentas de apoio, como o so a exi-
gncia de que cada UC, para sua implementao, deva ter
um plano de manejo e um conselho gestor criado.
No mbito nacional o Snuc acompanhado e gerido pelo
Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama); pelo Minis-
trio do Meio Ambiente, como rgo central coordenador do
sistema; e executado pelos rgos governamentais, como
o Ibama e mais recentemente pelo Instituto Chico Mendes
e os rgos estaduais e municipais de meio ambiente. Esses
ltimos tm a funo de implementar o Sistema, subsidiando
as propostas de criao e administrao das UCs.
Em 22 de agosto de 2003, a Lei do Snuc foi regulamen-
tada pelo Decreto n 4.340 pela necessidade de modifcar
certas partes da Lei ainda pendentes, especialmente no que
se refere defnio de outras formas de gesto ambiental
de territrios integrados (grandes blocos de conservao).
Podemos citar o reconhecimento da fgura dos mosaicos
de unidades de conservao por ato do MMA, o qual prev
a existncia de um Conselho Gestor do Mosaico, com carter
consultivo e com funo de implementar a gesto integrada
das unidades que o compem, e tambm de propor diretrizes
e aes para compatibilizar, integrar e otimizar as atividades
desenvolvidas em cada UC; as relaes com a populao
residente na rea; e manifestar-se sobre propostas de soluo
para a sobreposio de unidades. Do mesmo modo, para
fns de gesto, so reconhecidos os corredores ecolgicos,
por ato do MMA. Nesse item, uma outra poltica nacional
R
E
A
S
P
R
O
T
E
G
I
D
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 264
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
PARQUE NACIONAL DO IGUAU
O Parque Nacional do Iguau o mais importante parque da Bacia do Prata, conhecido por abrigar as grandes
Cataratas do Iguau. Localizado no Paran - sobre o Aqfero Guarani, uma das maiores reservas mundiais de gua
subterrnea (ver Aqfero Guarani, pg. 297) - abriga mais da metade do que restou de Mata Atlntica nesse
Estado. Alm disso, o local que mais recebe turistas estrangeiros no Brasil e foi o primeiro parque do Pas a contar
com um plano de manejo. o segundo parque mais antigo do Brasil e o maior fora da Amaznia, estendendo-se
tambm para o territrio argentino. Foi cenrio de misses jesutas para a catequese de ndios Tupi-Guarani, depois
ocupado por bandeirantes paulistas, permanecendo sob o domnio de Portugal durante muitos anos. Iguau
uma palavra de origem Tupi e quer dizer gua grande.
Em 1986, foi includo na Lista de Patrimnios da Humanidade da Unesco e, mais de dez anos depois (1999),
entrou na lista negra dessa mesma instituio. Entre as ameaas sofridas pelo parque, razes pelas quais foi consi-
derado um patrimnio em perigo (embora j tenha sado da lista), esto a caa de animais silvestres, a explorao
ilegal de palmito, o atropelamento de animais nas estradas que o circundam e as presses para a reabertura
de uma estrada ilegal que corta a unidade - a
Estrada do Colono, que atravessa a reserva em
um trecho de 18 quilmetros. A rodovia, no-pa-
vimentada, foi fechada apenas em 1997, depois
de uma longa batalha judicial com prefeituras e
o governo estadual. A rodovia encurta em quase
200 quilmetros o acesso Argentina e, com
isso, movimentava a economia de Capanema,
municpio prximo da fronteira.
SAIBA MAIS Cataratas do Iguau (www.
cataratasdoiguacu.com.br).
define melhor a funo dessa categoria de proteo: a
Poltica Nacional de Biodiversidade, que tem como um de
seus objetivos planejar, promover, implantar e consolidar
corredores ecolgicos e outras formas de conectividade de
paisagens, como forma de planejamento e gerenciamento
regional da biodiversidade, incluindo compatibilizao
e integrao das reservas legais, reas de preservao
permanentes e outras reas protegidas.
Outra inovao a possibilidade de gesto compar-
tilhada de UCs por OSCIPs, explicitada nessa norma, que
permite que uma UC possa ser gerida e administrada por
uma organizao da sociedade civil reconhecida como tal
em parceria com o rgo gestor.
O Decreto regulamentador do Snuc detalhou ainda
a gesto das Reservas de Biosfera, reconhecidas no Brasil
como um modelo, adotado internacionalmente, de gesto
integrada, participativa e sustentvel dos recursos naturais,
com os objetivos bsicos de preservao da diversidade
biolgica, o desenvolvimento de atividades de pesquisa,
o monitoramento ambiental, a educao ambiental, o
desenvolvimento sustentvel e a melhoria da qualidade de
vida das populaes. Por fm, o decreto ainda regulamenta
os mecanismos de compensao por signifcativo impacto
ambiental previstos na Lei do Snuc, prevendo a licena de
operao corretiva ou retifcadora, para empreendimentos
implantados antes de sua edio.
T
U
C
A
V
I
E
I
R
A
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
Turistas visitam as cataratas do Iguau (PR), 2003.
C AR TO P OS TAL AME A ADO
R
E
A
S
P
R
O
T
E
G
I
D
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 265
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
MOSAICO DE UCS DA TERRA DO MEIO NO PAR
A Terra do Meio, no sudoeste do Par, uma vasta regio com cerca de 7,9 milhes de hectares, encoberta
em grande parte pela foresta amaznica, e representa cerca de 6% do territrio do Estado. Abrange 38,62% dos
16 milhes de ha do municpio de Altamira, 19,25% do municpio de So Flix do Xingu e uma pequena parte do
municpio de Trairo (0,13%). Trata-se de uma regio de baixa densidade populacional e isolada, mas que serviu
durante quase um sculo extrao e produo de ltex natural, a seringa, passando pelos ciclos da castanha, do
ouro e da retirada de pele de ona para exportao na dcada de 1970. Entretanto, a explorao da borracha, a partir
do fnal do sculo XIX, foi o maior dos fenmenos econmicos, repercutindo na produo nacional. O nome Terra do
Meio deve-se ao fato de a regio se encontrar no interfvio dos rios Xingu e Iriri. Vivem ali populaes extrativistas,
ribeirinhos, agricultores familiares e povos indgenas de diferentes etnias. Essa regio irrigada pela Bacia do Rio
Xingu, uma das maiores do Brasil, com 511.891 milhes de ha de superfcie, da qual 65% esto situadas no Par.
A partir de 1990, transformou-se em alvo de confitos de terra e de disputa pela riqueza de seus recursos naturais
sem que houvesse controle por parte do governo federal. Essa situao deu origem a um intenso processo de grilagem
de terras pblicas associada a fraudes cartoriais, ao madeireira ilegal e tambm instalao de garimpos pela regio.
Conseqentemente, as populaes dos rios e igaraps acabavam sendo expulsas de suas terras, outras ameaadas
de morte. No entanto, a partir do ano 2000, o governo federal encomendou um estudo para a defnio de criao
de unidades de conservao na Terra do Meio. Esse estudo indicou a criao de unidades de uso sustentvel e de
proteo integral constituindo um mosaico de unidades de conservao, uma vez que a regio identifcada como
rea de alta importncia para a conservao da biodiversidade. Ao fnal de 2006, tinham sido criadas praticamente
todas as reas componentes do mosaico com exceo da Resex do Mdio Xingu: a Esec Estao Ecolgica da Terra
do Meio, o Parque Nacional da Serra do Pardo, a Reserva Extrativista Riozinho do Anfrsio, a Reserva Extrativista
do Iriri, a rea de Proteo Ambiental Triunfo do Xingu, a Floresta Estadual do Iriri. Alm dessas UCs, compem o
mosaico as Terras Indgenas Xipaya e Curuaia. Circundada pelas rodovias BR-163 e BR-230 (Transamaznica), abriga,
nos municpios que surgiram, toda a populao de migrantes nordestinos que vieram para atuar como soldados da
borracha. Alguns desses municpios so vetores de migrao e presso sobre a Terra do Meio.
O cenrio que se coloca para a Terra do Meio revelador e simblico para outras partes da Amaznia e tam-
bm do Brasil, uma vez que traz elementos que refetem a situao de isolamento, a presena de atores sociais
distintos e a falta de governana na regio. antes de tudo um desafo de integrao entre atores sociais em torno
de uma preocupao comum e da gesto integrada de um grande bloco de conservao ambiental. Importante
pelos servios ambientais que fornece Humanidade, pela quantidade de recursos genticos inexplorados e pelo
desenvolvimento de polticas compensatrias. Sem dvida, preciso compreender que as populaes que ali vivem
devem ser atendidas em suas necessidades bsicas como sade e educao, transporte e comunicao, para que
possam continuar desempenhando o papel fundamental de conservar a regio.
Esse mosaico, apesar de no ter sido reconhecido pelo poder pblico como tal, est inserido dentro de um
conjunto maior de UCs e TIs contnuas no que estamos chamando de Corredor de Biodiversidade do Xingu com
mais de 27 milhes de ha. Este corredor engloba alm das reas mencionadas, o complexo de Terras Kayap e o
Parque Indgena Xingu e a Rebio Nascentes do Cachimbo, um dos maiores corredores do Planeta.
VEJA TAMBM Amaznia (pg. 83); Parque Indgena do Xingu (pg. 278).
ZOOM
R
E
A
S
P
R
O
T
E
G
I
D
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 266
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
CAVERNAS
AUGUSTO AULER*
Cavernas, grutas, lapas so nomes genricos que
designam cavidades formadas por processos naturais
em diversos tipos de rocha e solo. O Brasil particular-
mente bem aquinhoado com respeito a seu patrimnio
espeleolgico (espeleologia = cincia/esporte que lida
com a explorao, documentao e estudo de cavernas),
j que entre nossas quase 6 mil cavernas at o momento
registradas possumos exemplos em vrios tipos de rocha,
mas principalmente calcrio, dolomito, arenito, quartzito
e minrio de ferro. O potencial brasileiro em termos de
cavernas, no entanto, muito superior, podendo ser es-
timado em mais de 100 mil cavidades, o que demonstra
que ainda temos muito ainda a descobrir. Basta mencio-
nar que a maior caverna conhecida no Brasil, a Toca da
Boa Vista, no norte da Bahia, com 107 km de galerias
mapeadas, foi descoberta apenas em 1997, enquanto a
mais profunda caverna brasileira - o Abismo Guy Collet
no estado do Amazonas, com 670 m de desnvel - foi
descoberta e explorada apenas em 2006.
Embora as cavernas sejam menos conhecidas e
estudadas do que outras feies naturais, como rios ou
montanhas, sua importncia cientfca e cultural imensa.
Muitos dos stios arqueolgicos e paleontolgicos mais
notveis do Brasil esto associados a cavernas. Pinturas
rupestres e ossadas de animais j extintos so comumente
encontradas em grutas de vrias regies brasileiras. O
meio subterrneo compreende, tambm, um ecossistema
singular, comportando diversas espcies adaptadas a um
ambiente sem luz e com restrito aporte alimentar, incluin-
do peixes, crustceos, grilos, besouros, aranhas etc. Parte
dessas espcies altamente especializada (por exemplo,
tm reduo dos olhos e da pigmentao escura), so
incapazes de viver no meio epgeo (fora das cavernas) e
em geral apresentam populaes reduzidas e bastante
vulnerveis alteraes no meio externo.
As cavernas brasileiras, apesar de protegidas por
lei, sofrem ameaas constantes. Minerao, poluio
e depredao esto entre os impactos mais freqen-
tes. Apenas uma parcela nfma de nossas cavernas
encontra-se inserida em unidades de conservao e
frao ainda menor gerenciada atravs de planos de
manejo. imprescindvel que o patrimnio espeleol-
gico brasileiro, antes de ser efetivamente preservado,
seja descoberto e documentado.
*Pesquisador e consultor ambiental aauler@terra.com.br
As unidades de conservao integrantes do Snuc so
divididas em dois grandes grupos, de acordo com as carac-
tersticas e especifcaes: as Unidades de Proteo Integral
e as Unidades de Uso Sustentvel. A diferena est no fato de
nas UCs de proteo integral no ser admitido o uso direto
dos recursos naturais (a no ser excees previstas em Lei)
nem a permanncia de habitantes, enquanto nas UCs de uso
sustentvel admite-se o uso de parte de seus recursos natu-
rais de modo sustentvel e permite a presena de moradores,
desde que garantida sua conservao. A presena humana
nessas UCs ( exceo das reas de Proteo Ambiental)
controlada, pois apenas as populaes que tradicionalmente
ocupavam aquelas terras tm o direito de permanecer ali,
como o caso de quilombolas e ribeirinhos. No caso das Flo-
nas, a populao residente naquele territrio no momento
da criao da UC tem tambm o direito de permanecer nas
terras. No Brasil, as UCs de uso sustentvel somam cerca de
99,5 milhes de ha, distribudos em 444 unidades.
De maneira geral, as UCs contribuem para a proteo
de espcies endmicas, ajudam a regular o clima, abastecer
os mananciais de gua, melhorar a qualidade de vida das
pessoas (ver Servios Ambientais, pg. 459), alm
de, muitas vezes, abrigarem populaes tradicionais cujo
sustento depende de seus recursos naturais. As terras
indgenas brasileiras, alm das UCs e terras de quilombo,
tambm so consideradas reas protegidas, pois guardam
pores importantssimas e bastante representativas da
diversidade socioambiental.
R
E
A
S
P
R
O
T
E
G
I
D
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 267
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
RESERVAS EXTRATIVISTAS
MARY ALLEGRETTI*
Existem na Amaznia 81 reas protegidas para
comunidades tradicionais, entre Reservas Extrativistas
e Reservas de Desenvolvimento Sustentvel, federais e
estaduais, com uma rea de 21.754.304 ha, represen-
tando 4,29% da regio e benefciando cerca de 200 mil
pessoas. A partir de 1992, essa modalidade de proteo
passou a ser utilizada tambm fora da Amaznia,
existindo hoje 11 reas que abrangem 324.807 ha no
Nordeste e no Centro-Sul do Pas.
As Reservas Extrativistas surgiram como conceito
em 1985, durante o I Encontro Nacional dos Seringuei-
ros, a partir da liderana de Chico Mendes (ver pg. 86)
e dos empates aos desmatamentos no Acre. O modelo
foi inspirado nas Terras Indgenas: so reas pblicas,
no divididas em parcelas individuais, de propriedade
da Unio, cedidas ao uso para comunidades com tradi-
o no uso dos recursos naturais. A inexistncia desse
formato na legislao brasileira de reforma agrria e de
meio ambiente foi superada pelo Decreto Presidencial
98.897/90, de 1990, que deu ao conceito sua primeira
institucionalidade.
Em 2000, as Reservas Extrativistas passaram a
fazer parte do Snuc e, a partir da Lei n 11.284, de
maro de 2006, a ser reconhecidas como parte das
forestas pblicas da Unio. A gesto das Resex e RDS
realizada pelo CNPT. As diferentes formas de insti-
tucionalizao pouco alteraram o conceito defnido
h mais de vinte anos. Polticas criadas em resposta a
demandas sociais tendem a ser permanentes e gerar
benefcios a toda a sociedade.
Para as comunidades locais, o impacto imediato da
criao de reas protegidas a resoluo de confitos
socioambientais e a segurana de poder continuar
obtendo a subsistncia com a mesma tecnologia das
geraes anteriores. Para o meio ambiente, signifca o
fm de presses por desmatamento. Para o Estado, re-
presenta uma parceria na qual as comunidades cuidam
dos recursos e o governo cuida das comunidades.
Para a criao, existem metodologias defnidas, h
o envolvimento da comunidade e de diferentes cientis-
tas com a proposta. A contabilizao dos resultados,
pelo poder pblico, imediata, os riscos de se perder
mais alguns hectares de biodiversidade, eliminado.
Quando, porm, a anlise se volta para o processo de
implemementao, os resultados no so assim to
favorveis. O Estado est sempre ausente; as parcerias
surgidas durante a criao, se dissolvem; os produtos
forestais tradicionais perdem valor progressivamente e
no competem com a pecuria ou com a soja. Conciliar
aspectos ambientais, sociais, econmicos e institucionais
em uma modalidade inovadora de gesto partilhada de
recursos naturais entre comunidades e Estado tarefa
complexa para a qual ambos no esto preparados.
A foresta em p protege a biodiversidade, assegura
estoques de recursos naturais, regula o clima, mantm a
oferta de recursos hdricos, mas no compete, no merca-
do, com a soja ou com a pecuria. Os preos dos produtos
forestais no compensam, portanto, o esforo de obt-
los. E os servios ambientais fornecidos pelo estoque de
capital natural presente nas reas protegidas, manejado
pelas prticas comunitrias, no esto contabilizados nos
preos nem nas polticas pblicas. por esta razo que
mais lucrativo derrubar do que proteger as forestas.
Em tempos de mudanas climticas globais, mais
do que um obstculo, as unidades de conservao de uso
sustentvel constituem uma oportunidade estratgica
para o Brasil. Incluir nos preos dos produtos forestais
no madeireiros o valor dos servios ambientais presta-
dos pelos ecossistemas e pelas comunidades tradicionais
pode atender um duplo objetivo: evitar desmatamento
e emisses, dinamizando a economia.
SAIBA MAIS Reserva Extrativista (www.reservas
extrativistas.blogspot.com).
*Antroploga, consultora independente, foi Secretria de
Coordenao da Amaznia do MMA m.allegretti@uol.com.br
R
E
A
S
P
R
O
T
E
G
I
D
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 268
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
OS VRIOS TIPOS DE UNIDADES DE CONSERVAO
DE PROTEO INTEGRAL
M
Estao Ecolgica (Esec) O objetivo a preservao da natureza e a realizao de pesquisas cientfcas, ape-
nas. de posse e domnio pblicos, sendo que as reas particulares em seus limites devem ser desapropriadas.
M
Reserva Biolgica (Rebio) Preservao integral da biota e demais atributos, sem interferncia humana
direta, excetuando-se as medidas de recuperao e manejo necessrias.
M
Parque Nacional (Parna) Preserva ecossistemas naturais de grande relevncia ecolgica e beleza cnica;
permite a realizao de pesquisas cientfcas e atividades de educao ambiental, recreao e ecoturismo.
M
Monumento Natural (Monat) Tem como objetivo preservar stios naturais raros, singulares ou de
grande beleza cnica. A visitao est sujeita a restries.
M
Refgio de Vida Silvestre (RVS) O objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condies
para a existncia e reproduo de espcies ou comunidades da fora local e da fauna residente ou migratria.
Tambm est sujeita a restries de acesso.
DE USO SUSTENTVEL
M
rea de Proteo Ambiental (APA) Em geral extensa, possui um certo grau de ocupao humana,
alm de atributos especialmente importantes para a qualidade de vida das populaes humanas.
M
rea de Relevante Interesse Ecolgico (Arie) rea de pequena extenso, com pouca ou nenhuma ocupao
humana, tem como objetivo preservar os ecossistemas naturais de importncia regional ou local e regular o uso.
M
Floresta Nacional (Flona) So reas com cobertura forestal de espcies predominantemente nativas
e, alm de permitir o uso sustentvel de seus recursos, admite a presena de populaes tradicionais que a
habitavam antes de sua criao.
M
Reserva Extrativista (Resex) Surgiram a partir do movimento dos seringueiros do Acre, que, liderados
por Chico Mendes, lutavam a fm de obter suas prprias terras. A 1
a
Resex foi criada em 1990 e recebeu o
nome de Resex Chico Mendes, localizada em Xapuri (AC). (ver pg. 267)
M
Reserva de Fauna (REF) Protege o habitat de espcies de fauna silvestre endmicas e em perigo de extino.
So permitidas apenas pesquisas acadmicas, com licena do Ibama, e atividades de visitao guiadas.
M
Reserva de Desenvolvimento Sustentvel (RDS) Permite a proteo ambiental e o uso sustentvel
dos recursos naturais pelas populaes tradicionais que vivem nos limites da rea.
M
Reserva Particular do Patrimnio Natural (RPPN) reas particulares que tm por objetivo preservar
espaos de importncia ecolgica ou paisagstica. Os proprietrios podem reverter parte ou a rea total de
sua propriedade em uma RPPN, que torna-se isenta do Imposto Territorial Rural (ITR). S permitido o
desenvolvimento de atividades de pesquisa cientfca, ecoturismo, recreao e educao ambiental.
Problemas
As reas protegidas de cada bioma, apesar do grande
nmero de unidades de conservao no Brasil, no alcanam
a mdia mnima defnida internacionalmente, que 10%
de rea de proteo integral no territrio de cada ambiente
(so 5,55% do territrio protegidos por UCs integrais no
Pas). Isso signifca que a proteo ainda insufciente
para a efetiva conservao da biodiversidade no Pas,
especialmente biomas como o Cerrado e a Caatinga. Alm
disso, a infra-estrutura precria, por exemplo, na maior
parte das vezes no sufciente para abrigar visitantes de
maneira sustentvel ou mesmo para viabilizar a fscalizao
R
E
A
S
P
R
O
T
E
G
I
D
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 269
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
alm do desenvolvimento de planos para a criao de UCs
que permitam a co-existncia entre categorias distintas de
unidades, formando mosaicos para a conservao ambiental
integrando uso sustentvel com proteo integral.
Por fim, a existncia de uma Poltica Nacional de
reas Protegidas e a mudana do conceito que inclui terras
indgenas e terras de quilombo representam um avano
histrico na poltica ambiental no Pas. Entretanto, preciso
incorporar esse conceito no dia-a-dia dessas populaes.
Desse modo, toda essa conjuntura pode abrir a possibi-
lidade de criao de um sistema de conservao integrado
nas trs esferas do governo (federal, estadual e municipal)
e, pela primeira vez, tratar o meio ambiente no como uma
restrio ao desenvolvimento, mas como parte necessria
para a sobrevivncia das espcies e do ser humano.
Populaes em UCs
A presena de pessoas em unidades de conservao foi
um ponto polmico durante a construo da Lei do Snuc,
discusso gerada pelas sobreposies entre unidades de
conservao e reas tradicionalmente ocupadas por ndios,
ribeirinhos, caiaras, seringueiros, quilombolas, entre
outros grupos. Esse tema polmico em todo o mundo e
existe desde a criao do Parque Nacional de Yellowstone,
nos Estados Unidos, o mais antigo do mundo, com mais
de 130 anos. Essa relao confituosa levantou debates no
Brasil sobre a possibilidade de se criar novas categorias de
reas protegidas, capazes de compatibilizar a conservao
ambiental com o uso sustentvel dos recursos naturais
por populaes que nelas habitam. Assim, foram criadas
as categorias Reservas Extrativistas (Resex) e Reservas de
Desenvolvimento Sustentvel (RDS).
O projeto reas Protegidas da Amaznia (Arpa) um
programa decenal aprovado em 2000, que tem como obje-
tivo expandir e consolidar os sistema de reas protegidas na
Amaznia, criando mosaicos de UCs de diversas categorias,
incluindo unidades de proteo integral e uso sustentvel.
O Arpa fruto de uma parceria entre o governo federal e
doadores internacionais.
necessria para a proteo da rea. No Parque Nacional da
Chapada Diamantina, em 1999, poca em que o turismo
comeou a crescer muito na regio, o escritrio contava
com apenas cinco funcionrios, entre eles dois enviados
por uma ONG. A equipe deveria desenvolver atividades na
rea de educao ambiental, ecoturismo, tomar medidas
preventivas contra incndios, fiscalizao e atividades
ligadas s cavernas (ver pg. 266).
Grandes desafos permeiam a viabilizao e efetivao
das UCs no Brasil, entre eles a consolidao do processo de
regularizao fundiria pertinente a quase todos os casos de
unidades de proteo integral e uso sustentvel. Resduos
do processo de criao das UCs brasileiras do passado, que
via de regra desconsiderava a presena de populaes, so
geradores de grandes confitos fundirios e desentendimen-
tos em grande parte do territrio nacional.
Outro grande desafo a implementao de mecanis-
mos para a gesto participativa nas UCs. Apesar do Snuc
prever alguns mecanismos, como a formao obrigatria
dos conselhos gestores de cada unidade, poucas foram
implementadas at o momento. O Estado de So Paulo
saiu na frente com a aprovao, em 2004, de um decreto
estadual que institui o Programa de Gesto Compartilhada
de UCs no Estado, pelo qual o governo pode fazer parcerias
com Oscips para co-gerir as unidades.
H, ainda, a necessidade do aumento signifcativo das
UCs de proteo integral, em especial em biomas estratgi-
cos para a conservao da biodiversidade, como o Cerrado,
VEJA TAMBM Povos Indgenas (pg. 226); Qui-
lombolas (pg. 234), Bens Culturais (pg. 270).
VOC SABIA?
M
O Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janei-
ro, o parque mais visitado do Pas. onde esto
o Corcovado e o Cristo Redentor, importantes
atraes tursticas da cidade. Estima-se que rece-
ba, anualmente, cerca de 2 milhes de visitantes
(veja Recuperao Florestal, pg. 290).
M
Os territrios das Reservas de Desenvolvimen-
to Sustentvel Mamirau, Aman e do Parque
Nacional do Ja receberam da Unesco o ttulo de
maior corredor de biodiversidade do Planeta.
B
E
N
S
C
U
L
T
U
R
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 270
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
BENS CULTURAIS
CARLOS FREDERICO MARS DE SOUZA FILHO*
*Doutor em Direito do Estado, professor de Direito Agrrio e Socioambiental da PUC-PR
(graduao, mestrado e doutorado)
A cultura no existe isolada do mundo natural, indefnida, sem contato com a natureza.
E no apenas o resultado da histria, mas tambm da geografa
A cultura produto do meio em que o ser humano
est inserido. Assim como o conhecimento, ela fruto da
realidade e da necessidade de modifcao. A interveno
humana na natureza, interveno cultural, a modifca, mas
tambm profundamente modifcada por ela.
Por isso, o meio ambiente, quando entendido de um
ponto de vista humanista, compreende a natureza e as
modifcaes que nela introduziu e vem introduzindo o ser
humano. Assim, o meio ambiente composto pela terra, a
gua, o ar, a fora e a fauna, as edifcaes, as obras de arte
e os elementos subjetivos e evocativos, como a beleza da
paisagem ou a lembrana do passado, inscries, marcos ou
sinais de fatos naturais ou da passagem de seres humanos.
Dessa forma, para compreender o meio ambiente to
importante a montanha, como a evocao mstica que
dela faa o povo.
Alguns desses bens existem independentes da ao hu-
mana e so chamados de bens ambientais naturais; outros
so frutos de interveno humana e so chamados de bens
ambientais culturais, ou simplesmente de bens culturais.
O interesse pelos bens culturais pode ser restrito ao
povo que vive essa cultura, mas pertence tambm a toda
a humanidade que tem o direito existncia de diferentes
culturas ou sociodiversidade.
A sociodiversidade indissocivel da biodiversidade.
Ambos so fundamentais para a civilizao e a cultura dos
povos. A ameaa do desaparecimento do patrimnio cultural
(conjunto dos bens culturais) assustadora, porque ame-
aa de desaparecimento da prpria sociedade. Enquanto o
patrimnio natural a garantia de sobrevivncia fsica da
humanidade, que necessita do ecossistema ar, gua e
alimentos para viver, o patrimnio cultural garantia de
sobrevivncia social dos povos, porque produto e testemu-
nho de sua vida. Um povo sem cultura ou dela afastado,
Grafsmo paku kgwer (espinha de pacu) dos Wajpi.
L
U
I
Z
S
A
N
T
O
S
/
I
P
H
A
N
A
C
E
R
V
O
I
P
H
A
N
W
A
I
V
I
S
I
W
A
J
P
I
/
A
C
E
R
V
O
C
O
N
S
E
L
H
O
D
A
S
A
L
D
E
I
A
S
W
A
J
P
I
/
A
P
I
N
A
M
A
R
C
U
S
S
C
H
M
I
D
T
/
I
S
A
Samba de roda do Recncavo Baiano.
So Miguel das Misses (RS). Paneleira de Goiabeiras (ES).
B
E
N
S
C
U
L
T
U
R
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 271
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
PATRIMNIOS CULTURAIS BRASILEIROS
Bens culturais imateriais registrados no Livro
das Formas de Expresso do Patrimnio Cul-
tural Imaterial brasileiro, do Iphan
1. Tambor de Crioula (MA)
2. Ofcio das Paneleiras de Goiabeiras (ES)
3. Arte Kusiwa dos Wajpi (AP)
4. Crio de Nazar (PA)
5. Samba de Roda no Recncavo Baiano (BA)
6. Viola-de-Cocho (MT/MS)
7. Ofcio das Baianas de Acaraj (BA)
8. Jongo no Sudeste (RJ)
9. Cachoeira de Iauaret (AM)
10. Feira de Caruaru (PE)
11. Frevo (PE)
SAIBA MAIS Instituto do Patrimnio Histrico
e Artstico Nacional (Iphan), rgo vinculado ao
Ministrio da Cultura e que mantm delegacias
espalhadas por todo o Brasil (www.iphan.gov.br);
Organizao das Naes Unidas para a Educao,
a Cincia e a Cultura (Unesco), que mantm a lista
do que considerado patrimnio cultural da hu-
manidade e inclui 830 locais, sendo 17 no Brasil
(www.unesco.org.br); Souza Filho, Carlos Mars
de. Bens culturais e sua proteo jurdica. 3 ed.
Curitiba: Juru. 2006.
1. Parque Nacional do Ja (AM)
2. Parque Nacional Serra da Capivara, em So Raimundo Nonato (PI)
3. Centro Histrico de So Luiz do Maranho (MA)
4. Ilhas Atlnticas Brasileiras: Reservas de Fernando
de Noronha e Atol das Rocas (PE)
5. O Centro Histrico de Olinda (PE)
6. O Centro Histrico de Salvador (BA)
7. Costa do Descobrimento - Reservas da Mata Atlntica (BA/ES)
8. A Cidade Histrica de Ouro Preto (MG)
9. Centro Histrico da Cidade de Diamantina (MG)
10. O Santurio do Senhor Bom Jesus de Matosinhos,
em Congonhas do Campo (MG)
11. Complexo de reas Protegidas do Pantanal (MS/MT)
12. Centro Histrico da Cidade de Gois (GO)
13. reas protegidas do Cerrado: Chapada dos Veadeiros
e Parque Nacional das Emas (GO)
14. Braslia e seu Plano Piloto (DF)
15. Mata Atlntica - Reservas do Sudeste (SP/PR)
16. O Parque Nacional de Iguau, em Foz do Iguau (PR)
17. As runas jesuticas-guarani, de So Miguel das Misses (RS)
Os stios brasileiros na lista de patrimnios da humanidade
A
C
E
R
V
O
I
P
H
A
N
B
E
T
O
R
I
C
A
R
D
O
/
I
S
A
A
C
E
R
V
O
I
P
H
A
N
V
A
L
T
E
R
C
A
M
P
A
N
A
T
O
/
A
B
R
B
E
N
S
C
U
L
T
U
R
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 272
DIVERSIDADE SOCIOAMBIENTAL
como uma colmia sem abelha rainha, um grupo sem norte,
sem capacidade de escrever sua prpria histria e, portanto,
sem condies de traar o rumo de seu destino.
Da mesma forma que devemos preservar a biodiver-
sidade, devem ser preservados os bens que se identifcam
com uma cultura.
Bens culturais materiais e imateriais
Todo bem cultural tem em si uma evocao, repre-
sentao, lembrana, isso , sobre a materialidade do bem
existe uma grandeza imaterial que exatamente lhe d o
contedo cultural. O bem cultural pode ser uma cachoeira,
uma casa ou uma obra de arte, mas a sua qualidade cultural
no est na materialidade, e sim no que ela representa. No
o material da casa, nem a gua da cachoeira, nem a tela
e as tintas que revestem a materialidade de valor cultural,
mas o que de forma intangvel o ser humano lhe atribuiu,
seja como beleza, seja como evocao mstica ou lembrana
histrica. Portanto, todo valor cultural uma imaterialidade.
Muitos bens culturais, para existir, dependem de um bem
material, que chamamos de suporte. Outros porm existem
independentemente do qualquer material, como a lngua,
a religio, as festas, o conhecimento.
Para preservar os com suporte, necessrio preservar
os respectivos suportes, mas para preservar os sem suporte,
necessrio lhes dar um suporte adequado. claro que a
lngua, por exemplo, mantida de gerao em gerao,
independentemente da escrita, mas para preserv-la
necessrio torn-la grfca, anotando a pronncia e o sig-
nifcado, o mesmo se d com a dana e com o conhecimento
em geral. Da a importncia dos dicionrios, enciclopdias
e almanaques.
O conhecimento um bem cultural extraordinrio e
coletivo. No apenas os conhecimentos tradicionais ligados
aos povos e suas tradies, mas todo conhecimento. So
bens culturais o saber, o saber fazer e o descrever como
fazer. Esses bens podem ajudar a preservar os outros bens
e os suportes dos bens culturais.
Portanto, todo bem cultural imaterial, mas alguns
esto intrinsecamente ligados a um suporte de tal forma
que sua preservao depende da preservao do suporte
nico.
A proteo dos bens culturais
claro que cada povo protege os seus bens culturais,
sua lngua, hbitos e costumes, mas isto no mundo moderno
no basta e necessrio que haja a interveno do direito e
das leis. Assim, no Brasil, desde 1937, a lei protege os bens
culturais por meio do instituto do tombamento, que um
registro em livro prprio no qual se descreve o bem cultural
que integra o patrimnio cultural brasileiro. o Decreto-Lei
n 25, de 30 de novembro de 1937.
A Constituio de 1988 reforou essa proteo e defniu
como patrimnio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referncia identidade, ao,
memria dos diferentes grupos formadores da sociedade
brasileira. Nisso evidentemente incluiu as diversas culturas
indgenas e, para no deixar dvidas sobre a abrangncia
do conceito, especifcamente incluiu os documentos e stios
histricos dos quilombos.
Dessa forma, no Brasil, cada povo - indgena, cigano,
quilombola e demais populaes tradicionais - tem seu
patrimnio cultural protegido, porque, de uma ou outra
forma, so formadores da sociedade brasileira. claro
que para que esses bens culturais sejam pro tegidos
sempre necessria a criao de um suporte material,
como um filme, fotografias etc. Portanto, o trabalho
de proteo deve ser feito pela liberdade e espao para
que se manifestem e tambm pela guarda de suportes
adequados.
Existem leis brasileiras e convenes internacionais
de proteo. Entre as nacionais mais importantes esto o
Decreto-Lei n 25 (Lei de Tombamento), de 30 de novembro
de 1937, a Lei n 3.924, de 26 de julho de 1961 (Monumentos
Arqueolgicos) e o Decreto n 3.551, de 4 de agosto de
2000 (registro de bens imateriais). Entre as Convenes,
esto a que constitui o Patrimnio Cultural da Humanidade
(Unesco, 1972) e a que salvaguarda o patrimnio cultural
imaterial (Unesco, 2003). H, ainda, no Brasil, leis estaduais
e municipais.
VEJA TAMBM reas Protegidas (pg. 261);
Educao (pg. 444).
FLORESTAS
As florestas tropicais, denominao que engloba parte da Amaznia e a Mata
Atlntica, cobrem metade do territrio nacional, abrigam enorme biodiversidade e
centenas de povos tradicionais. So responsveis por inmeros servios ambientais,
como a proteo do solo e da gua. O bioma amaznico regula o clima de quase toda
a Amrica do Sul. Essa importncia vem sendo reconhecida pela lei e pela cincia,
mas no na prtica. Entre 2003 e 2004, foram derrubados 26 mil km2 de foresta
amaznica no Brasil, quase o territrio de Alagoas e a segunda maior marca da his-
tria. O Pas tornou-se o maior desforestador do mundo. Depois disso, seguiram-se
trs anos de quedas nas taxas, at voltarmos a nmeros menos absurdos, em 2007.
As aes do governo infuenciaram a desacelerao dos desmates, mas no se sabe
ainda a contribuio para isso de fatores momentneos como a queda do preo
das commodities e operaes de fscalizao e se a situao pode voltar a piorar. H
poucos investimentos para tornar sustentvel a economia regional, reocupar reas
j abertas e abandonadas, implementar unidades de conservao. Cerca de 80% de
toda a madeira produzida no Pas continua vindo da explorao predatria.
Poltica Florestal, pg. 274
Desmatamento, pg. 276
Queimadas, pg. 283
Manejo, pg. 285
Recuperao Florestal, pg. 288
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 273
P
O
L
T
I
C
A
F
L
O
R
E
S
T
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
FLORESTAS
274
POLTICA FLORESTAL
ANDR LIMA*
Cdigo Florestal do Pas prev reas de preservao e uso das forestas
com respeito ao interesse comum de todos os habitantes
* Advogado e mestre em Poltica e Gesto Ambiental, pelo Centro de Desenvolvimento
Sustentvel (UnB), diretor de Articulao de Aes para Amaznia do MMA
As primeiras normas (Ordenaes Filipinas do Rei
Filipe), que regulavam a explorao das forestas da costa
brasileira que eram de domnio do Rei, surgiram no incio do
sculo XVII. Por conta da evoluo da ocupao do territrio
e da explorao pelos ciclos econmicos da cana, do caf, da
pecuria e das demandas por recursos naturais crescentes
em decorrncia do crescimento das vilas, cidades e hoje
das regies metropolitanas , boa parte das florestas,
principalmente na Mata Atlntica, mas tambm no Cerrado
e na Amaznia, esto sendo destrudas em ritmo acelerado
(ver Ordenamento Territorial, pg. 324).
Em 1934, o ento Presidente Vargas editou um Decreto-
Lei estabelecendo forestas de proteo e forestas de produ-
o, na tentativa de estabelecer uma regra que mantivesse o
mnimo de forestas nos novos assentamentos rurais e des-
membramentos de propriedades agrcolas, principalmente
no Sul e no Sudeste, tendo em vista que a madeira era ainda
uma das principais fontes de energia (carvo).
Mais de trinta anos depois, em 1965, editada a Lei
Federal n 4.771, que institui o novo Cdigo Florestal, ainda
em vigor. Mantendo uma viso utilitarista das forestas, mas
j compreendendo a importncia delas para a proteo dos
solos e da gua, esta Lei avana no sentido de consagrar o
princpio de que os recursos forestais devem ser utilizados
respeitando-se o interesse comum de todos os habitantes do
Pas. Alm disso, cria duas formas importantes de conserva-
o e de preservao das forestas: as reas de Preservao
Permanente (APP) e as Reservas Legais (RL).
As APPs so aquelas reas onde a vegetao nativa deve
ser mantida ou recuperada para preservar rios, nascentes e
Regio de Ponte Serrada (SC), 2002. A fragmentao um dos maiores problemas da Mata Atlntica. Os remanescentes
forestais nativos esto ameaados pelo desmatamento e pelo avano dos reforestamentos com espcies exticas.
M
I
R
I
A
M
&
W
I
G
O
L
D
P
O
L
T
I
C
A
F
L
O
R
E
S
T
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 275
FLORESTAS
VOC SABIA?
M
As forestas brasileiras cobrem cerca de 50%
do territrio nacional. A Amaznia detm 70%
das forestas, enquanto o Cerrado possui 17%, a
Caatinga 6% e os outros biomas totalizam 7%.
As forestas plantadas representam 1% da rea
forestal do Pas.
M
Aproximadamente 15% da foresta Amaz-
nica foi derrubada nos ltimos 20 anos.
lagos contra a eroso do solo e o conseqente assoreamento
dos cursos dgua. Os limites das APPs esto estabelecidos pelo
artigo 2 da Lei (por exemplo: para rios com at 10 metros de
largura, a APP ser de 30 metros contguos s duas margens
ou ainda de 50 metros no raio de cada nascente). Pode ainda
o poder pblico (federal, estadual ou municipal) criar por
decreto outras APPs quando houver necessidade de proteger
a paisagem, a estabilidade do solo e os mananciais. As APPs
aplicam-se tanto em reas urbanas como rurais, pois tambm
exercem a funo de proteger as reas de risco de inundao
e o bem-estar das populaes humanas.
As Reservas Legais correspondem ao percentual de cada
propriedade rural onde a cobertura vegetal nativa deve ser
conservada ou utilizada sustentavelmente, mediante plano
de manejo forestal, com o objetivo de permitir a reproduo
da biodiversidade (fauna e fora), alm da manuteno de
outros servios ambientais, como: regulao do clima local,
regional (incluindo o ciclo hidrolgico) e global (manuten-
o de carbono); regulao do escoamento superfcial e de
inundao; recarga de aqferos e conservao de nascentes;
preveno de eroso; formao do solo e manuteno da
fertilidade; produo da biomassa. A dimenso das Reservas
Legais pode variar em funo da localizao da propriedade.
Nas reas de foresta tropical na Amaznia, a Reserva Legal
de 80% da propriedade rural. Nas reas de Cerrado localizadas
na Amaznia Legal, o percentual de 35% da propriedade e,
nas de mais regies do Pas, independentemente do bioma,
o percentual de 20%.
Alm do Cdigo Florestal, que se aplica em todo
territrio nacional, na Mata Atlntica, a Lei Federal
11.428/06, aprovada em dezembro de 2006, estabelece
regras para a conservao e explorao para cada diferente
tipo de vegetao, de acordo com os diferentes estgios
de regenerao (vegetao primria, ou seja, aquela
que no sofreu quase nenhuma interveno antrpica,
e a vegetao secundria em estgio inicial, mdio ou
avanado de regenerao).
Outra questo importante em relao poltica
forestal que hoje aproximadamente 80% da madeira
comercializada no Brasil no oriunda de manejo forestal
sustentvel, conforme determina a legislao. Parte da
madeira utilizada no Pas vem de desmatamentos ilegais,
parte de desmatamento legal (autorizado) e tambm de
explorao clandestina. Alm dos pouco mais de 30% de
terras indgenas e unidades de conservao na Amaznia,
de acordo com o Incra, outros 45% das terras so pblicas.
Para esses 45% do territrio amaznico foi aprovada a Lei
Federal 11.284, de 2 de maro de 2006, uma legislao
especfca que determina a conservao ou o uso sustentvel
das forestas pblicas. A chamada Lei de Gesto de Florestas
Pblicas, criou o Servio Florestal Brasileiro e permite ao
poder pblico destinar parte das forestas pblicas (at no
mximo 20% do total, nos primeiros dez anos de vigncia
da Lei) ao uso sustentvel por meio da concesso privada a
empresas madeireiras.
A lei impe um conjunto de salvaguardas para a reali-
zao das concesses como, por exemplo, a obrigatoriedade
de auditorias peridicas independentes, realizao prvia
de audincias pblicas, a manuteno de um percentual
intocado como rea testemunho, o respeito aos recursos
naturais e aos territrios de posse de populaes tradicionais,
a realizao de avaliao de impactos ambientais, o registro
georreferenciado da rea no cadastro de forestas pblicas, a
publicao de todos os contratos, licenas, auditorias, relat-
rios de fscalizao na Internet, dentre outras garantias.
Esta lei defne tambm territrios para a conservao
e para a sobrevivncia das populaes tradicionais e
comunidades locais que vivem nas forestas e cerrados em
terras pblicas.
VEJA TAMBM Os Verdadeiros Campees do
Desmatamento (pg. 79).
D
E
S
M
A
T
A
M
E
N
T
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 276
FLORESTAS
DESMATAMENTO
ARNALDO CARNEIRO FILHO* E NILO DAVILA**
O modelo atual de expanso agrcola, extremamente tecnifcado,
aumentou muito o poder de destruio de forestas no Pas
*Pesquisador em Ecologia da Paisagem no Instituto Nacional
de Pesquisas da Amaznia (Inpa)
**Coordenador do Programa de Polticas Pblicas do Instituto Sociedade,
Populaes e Natureza (ISPN)
Desmatamento o nome da operao que visa a su-
presso total da vegetao nativa de determinada rea para
a utilizao do solo. caracterizado pelas prticas de corte, ca-
pina ou queimada, que levam retirada da cobertura vegetal
existente em determinada rea, destinadas implantao de
atividades agropecurias, assentamentos urbanos e reforma
agrria; industriais; forestais; de gerao e transmisso de
energia; de minerao; e de transporte. O desmatamento pode
ocorrer em qualquer ambiente, seja ele de foresta, como na
Amaznia e na Mata Atlntica, ou outros tipos de vegetao,
como no Pampa, na Caatinga ou no Cerrado.
O desmatamento como prtica cultural no Brasil remonta
aos povos pr-colombianos e tem se perpetuado entre as
populaes tradicionais amaznicas. As prticas tradicionais
buscavam atender a necessidades familiares e de pequenos
grupos, limitavam-se a converter periodicamente superfcies
forestais de at 2 hectares em espaos agrcolas. Ainda que de
baixo impacto e restrita periferia da Mata Atlntica, essa pr-
tica j despertava preocupaes ambientais no sculo XVIII.
Nos tempos atuais, com um modelo de expanso agr-
cola extremamente tecnifcado, o poder de transformao,
se no destruio, aumentou sensivelmente. Essa prtica
que at ento tinha um carter de subsistncia e esteve
sempre associada aos baixos nveis tecnolgicos desses
povos tradicionais foi, em consonncia com os avanos de
uma agricultura tecnifcada, aumentando o seu poder de
destruio. O exemplo mais fagrante no Brasil talvez seja
a Mata Atlntica. Aps 500 anos de destruio ininterrupta,
restam nada mais que 7% de forestas remanescentes.
Na Amaznia no diferente. Cerca de 18% do bioma
j foi transformado em lavoura, pasto ou inacreditavelmente
desmatado e depois abandonado, especialmente a partir da
dcada de 1970 quando o governo brasileiro deu incio ao
grande projeto de colonizao na regio. Em 2004, devido
alta taxa de desmatamento segunda maior da histria
Madeireira em Porto dos Gachos, no vale do Rio Arinos (MT), 2003.
M
A
R
I
O
F
R
I
E
D
L
N
D
E
R
D
E
S
M
A
T
A
M
E
N
T
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 277
FLORESTAS
CURUPIRA, GALILEU, RIO PARDO E TSUNAMI ...
Em 2005, a Polcia Federal e o Ibama realizaram inmeras operaes com grande repercusso. Nessas opera-
es, segundo os dados do MMA, foram cancelados os cadastros de 1.500 empresas madeireiras criminosas; foram
congelados os ttulos de 1.066 mil propriedades originadas da grilagem de terras pblicas; foram apreendidos
90 mil metros cbicos de madeira e para cadeia (em priso temporria) foram mandadas 500 pessoas envolvidas
em crimes ambientais, incluindo 116 servidores do Ibama metidos principalmente em liberao irregular de
desmatamento. Ficou demonstrado publicamente o estrago que a corrupo causa na foresta.
A maior delas foi denominada Operao Curupira. Foi desencadeada em 2 de junho de 2005, e considerada
uma das maiores operaes j realizada pela Polcia Federal. Essa operao teve grande impacto em diversas
frentes de desmatamento, principalmente no Mato Grosso, estado que apresentou o maior ndice de desmata-
mento em 2004, e resultou numa enorme reduo de autorizaes de transporte e explorao de madeira.
o governo lanou um pacote de medidas destinadas ao
controle do desmatamento na Amaznia. O plano com-
posto por uma srie de aes, como criao de uma rede de
reas protegidas em locais-chaves, levantamento fundirio,
aes de fscalizao etc. Outras regies pressionadas pela
ampliao da fronteira agropecuria, como o caso do
Cerrado e do Pantanal, no tiveram nenhuma medida para
o combate do desmatamento desenhada at 2007.
Um pouco melhor
No Brasil, a situao melhorou um pouco nos ltimos
dois anos. Segundo dados ofciais, o desmatamento caiu
de 27 mil km
2
(2003/2004) para aproximadamente 14 mil
km
2
(2005/2006). Isso aconteceu devido, principalmente, a
fatores econmicos, como a queda de preo de soja e carne
MUDAN A C L I MT I C A
O CLIMA ESTA MUDANDO! QUAL O PAPEL DA FLORESTA NAS EMISSES BRASILEIRAS?
O desmatamento uma fonte importante de emisses de gases de efeito estufa. O desmatamento, seguido
da queimada, responsvel por algo entre 20% e 35% das emisses globais anuais. No Brasil, o desmatamento
representa 75% das emisses. Em 2007, um grupo de pesquisadores, formado entre outros por Carlos Nobre e
Daniel Nepstad, publicou um artigo na revista Science intitulado Tropical Forests and Climate Policy(http://www.
sciencemag.org/cgi/data/1136163/DC1/1) onde demonstram que preservando forestas o mundo pode diminuir
em at 12% as emisses globais e evitar que 50 bilhes de toneladas de carbono sejam lanados na atmosfera
(ver As forestas crescem onde chove, ou chove onde crescem forestas?, pg. 368).
bovina no mercado internacional e a uma valorizao do
Real em relao ao dlar, tornando os produtos do agro-
negcio brasileiro mais caros e menos competitivos. Alm
desses fatos, colaboraram algumas aes estruturantes
oriundas do Plano de Ao para Preveno e Controle do
Desmatamento na Amaznia Legal, como a criao de 19,5
milhes de hectares em unidades de conservao e o com-
bate corrupo nos rgos pblicos, grilagem de terras e
explorao de madeira ilegal e a proibio temporria de
atividades com impacto ambiental em milhes de hectares
ao longo das rodovias BR-163 (Cuiab-Santarm) no Par
e BR-319 (Manaus-Porto Velho) no Amazonas. Algumas
dessas medidas foram potencializadas aps o assassinato
brutal da missionria Dorothy Stang em Anapu, no Par,
em 12 de fevereiro 2005.
D
E
S
M
A
T
A
M
E
N
T
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 278
FLORESTAS
C AR TO P OS TAL AME A ADO
PARQUE INDGENA DO XINGU
ROSELY ALVIM SANCHES*
*Biloga, mestre em Ecologia pela USP, da equipe do Programa Xingu/ISA
O Parque Indgena do Xingu (PIX) abrange uma
rea de 2,8 milhes de hectares. uma Terra Indgena
demarcada em 1961 e homologada, localizada no
norte do estado de Mato Grosso. Nesse vasto territrio,
esto representados os principais troncos lingsticos
do Pas, Aruak, Karib, J e Tupi, em 16 etnias entre
os cerca de 5.000 habitantes indgenas. Alm dessa
diversidade cultural, o PIX abriga tambm paisagens
da Floresta Amaznica, dos Cerrados, dos Campos, da
Floresta Ribeirinha e de um tipo especial, denominado
Floresta Estacional Pereniflia, ou Florestas Secas.
Trata-se de um tipo de vegetao adaptado, tal como
os cerrados, ao clima de chuvas e secas prolongadas
sem, entretanto, perder todas suas folhas.
O PIX faz parte da grande bacia hidrogrfca do Rio
Xingu. O Xingu nasce no corao do Brasil, norte do Mato
Grosso (no Planalto dos Guimares), e possui mais de 2.700
km de extenso. Outros rios importantes se juntam a ele,
formando uma bacia hidrogrfca com quase duas vezes a
rea do estado de So Paulo, at desaguar no Rio Amazonas.
No total, mais de trinta povos indgenas habitam ao longo
do Xingu, descendentes de outros povos que ocuparam
a regio h milhares de anos, como mostram registros
arqueolgicos encontrados nos rios Iriri e Curu (no Par)
e nos arredores de Ribeiro Cascalheira, gua Boa e Nova
Xavantina (no Mato Grosso).
Poucas expedies de missionrios e cientistas se
aventuraram a desvendar essa regio at o incio do
sculo XX, mas esse paraso, que at a dcada de 1950
era habitado somente pelos povos indgenas, deixou de
ser impenetrvel. Os territrios tradicionais indgenas
se estendiam ao leste, a oeste, ao sul e ao norte das
fronteiras do PIX e fcaram fora de sua demarcao, para
dar lugar a ocupao e desenvolvimento das fronteiras
agrcolas. A cabea do Xingu est doente, anunciam os
ndios ao virarem o mapa de ponta-cabea.
As nascentes do Rio, que tambm fcaram fora
das terras indgenas, esto comprometidas pelo
assoreamento. Se no fosse pelas terras indgenas
que preservam quase 40% da bacia, possivelmente
toda essa regio j teria sido ocupada. No mapa das
nascentes do Xingu, grandes manchas laranjas se
destacam ao redor das terras indgenas. So reas
desmatadas de fazendas de pecuria e soja. Quando
Queimada... ...e sede do municpio de So Jos do Xingu (MT).
F
O
T
O
S
:
A
N
D
R
V
I
L
L
A
S
-
B
A
S
/
I
S
A
D
E
S
M
A
T
A
M
E
N
T
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 279
FLORESTAS
PARQUE INDGENA DO XINGU E ENTORNO
D
E
S
M
A
T
A
M
E
N
T
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 280
FLORESTAS
a foresta retirada, a chuva lava os solos e carrega os
sedimentos para dentro dos rios; a gua fca turva e
muitos peixes desaparecem.
A origem dessa mudana se deu recentemente,
atravs de um processo de colonizao durante a d-
cada de 1970, bastante convencional derrubada da
foresta a ferro e fogo para ocupar e desenvolver esse
meio caminho para a Amaznia, com mo-de-obra
de milhares de produtores agrcolas do Sul, Sudeste
e Nordeste do Pas. Vilas, estradas, cidades e vastas
reas de monocultura tomaram mais de um tero
da regio em apenas 40 anos. s vezes a explorao
madeireira foi to intensa, que restaram poucas rvo-
res-me aquelas que fornecem grande quantidade
de sementes levando quase extino de algumas
espcies de alto valor econmico, como o ip-roxo.
Nos anos 1990, o cultivo da soja impe um ritmo de
desmatamento ainda maior. A regio das nascentes
do Xingu perdeu mais de 4,5 milhes de hectares de
sua vegetao original, enquanto polticos e cientistas
estudam, discutem e divergem sobre como e onde
proteger as forestas e os cerrados e onde ceder lugar
monocultura de gros.
SAIBA MAIS Campanha Y Ikatu Xingu
(www.yikatuxingu.org.br).
(1) Remoo da cobertura vegetal para plantao e colheita da soja no muncipio de Querncia (MT); (2) Fazenda
de gado em S. Jos do Xingu (MT); (3) Escolas participam da Campanha 'Y Ikatu Xingu e plantam mudas na represa
do Garapu, em Canarana (MT); (4) Plantao de algodo em Sinop (MT).
1
2
4 3
P
E
D
R
O
M
A
R
T
I
N
E
L
L
I
/
I
S
A
A
N
D
R
V
I
L
L
A
S
-
B
A
S
/
I
S
A
A
N
D
R
V
I
L
L
A
S
-
B
A
S
/
I
S
A
A
N
A
L
C
I
A
P
E
S
S
O
A
G
O
N
A
L
V
E
S
D
E
S
M
A
T
A
M
E
N
T
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 281
FLORESTAS
Rio Xingu.
P
E
D
R
O
M
A
R
T
I
N
E
L
L
I
/
I
S
A
D
E
S
M
A
T
A
M
E
N
T
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 282
FLORESTAS
SAIBA MAIS Ipam - Desmatamento na Amaznia:
indo alm da emergncia crnica (www.ipam.org.
br/publicacoes); Dean, Warren. A ferro e a fogo: a
histria e a devastao da Mata Atlntica brasileira.
So Paulo: Companhia das Letras; Margullis, Srgio.
As causas do desmatamento. Banco Mundial, 2003.
(www.obancomundial.org/index.php/content/
view_document/1667.html); Mapeamento das
reas desmatadas na Amaznia Legal, atravs de
imagens de satlite (www.obt.inpe.br/prodes).
VEJA TAMBM Amaznia (pg. 83); Mata
Atlntica (pg. 144); Queimadas (pg. 283);
Manejo (pg. 285); Recuperao Florestal (pg.
288); Agricultura Sustentvel (pg. 414).
O DETER
O Projeto de Deteco de reas Desforestadas
em Tempo Real (Deter) faz parte do monitoramen-
to da foresta amaznica brasileira por satlite e
se encontra em operao no Inpe desde maio
de 2004. O Deter monitora o desmatamento na
regio a cada quinze dias, por meio de imagens
dos satlites Modis/Terra e/ou WFI/CBERS-2, que
possuem alta resoluo temporal.
Uma base de dados est disponvel na
Internet (http://www.obt.inpe.br/deter/) desde
2005. O Deter permite aos agentes ambientais de
fscalizao planejar as aes de campo, planejar
operaes e at fazer autuaes distncia.
VOC SABIA?
M
A FAO (Food and Agriculture Organization),
em seu relatrio Situao das Florestas do Mundo
2007, adverte que sete pases Brasil, Indonsia,
Sudo, Zmbia, Mxico, Repblica Democrtica de
Congo e Mianm (a antiga Birmnia) perderam
mais do que 71 milhes de hectares de forestas
entre 1990 e 2000. O Brasil, com desmatamento
anual mdio de 2,3 milhes de hectares/ano, e a
Indonsia, com 1,3 milho de hectares/ano, so os
que mais perdem forestas (ver Os Verdadeiros
Campees de Desmatamento, pg. 79).
M
Uma anlise dos dados dos 100 municpios
com maiores ndices de desmatamento realiza-
do pela Agncia Brasil demonstrou que 58 deles
esto entre os que apresentam as maiores taxas
de assassinatos no Pas. Essa foi a concluso de
levantamento, que cruzou dados do Projeto
Prodes Monitoramento da Floresta Amaznica
Brasileira por Satlite com o Mapa da Violncia
dos Municpios Brasileiros, realizado pela OEI,
com o apoio do Ministrio da Sade (ver Devas-
tao Combina com Violncia, pg. 388).
Plano de Combate
Entre 2004 e 2007, por meio do Plano de Ao para
a Preveno e Controle do Desmatamento na Amaznia
Legal, o governo ampliou as aes de comando e controle
ao desmatamento na Amaznia. O ambicioso plano, orado
em R$ 400 milhes, coordenado pela Casa Civil e envolvendo
13 ministrios, foi o carro-chefe da poltica ambiental do
primeiro mandato do presidente Lula.
O plano pode ser dividido em duas partes:
1. Aes de Combate: Ibama, Polcia Federal e Foras
Armadas, utilizando modernos equipamentos e inteligncia,
combateram os desmatamentos em diferente partes da
Amaznia. Foram mais de 30 grandes operaes de combate
ao desmatamento. O sucesso das operaes se deve em
grande parte ao Projeto de Deteco de reas Desforestadas
em Tempo Real (Deter), desenvolvido pelo Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe).
2. Aes estruturantes: Algumas aes, se imple-
mentadas, vo ter imenso impacto na conservao e no
uso racional da Amaznia. As mais importantes: a portaria
010/2004 do Incra que determina o georreferenciamento
das propriedades particulares maiores que 100 ha, a lei de
gesto de forestas pblicas, a criao de bases operativas de
controle e combate ao desmatamento e o Plano Amaznia
Sustentvel (PAS).
Q
U
E
I
M
A
D
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 283
FLORESTAS
A prtica cultural da queimada est relacionada com
o mtodo tradicional de limpeza da terra para introduo
e/ou manuteno de pastagem e campos agrcolas.
Esse mtodo consiste em derrubar a floresta, esperar
que a massa vegetal seque e, em seguida, colocar fogo,
para que os resduos grosseiros, como troncos e galhos,
sejam eliminados e as cinzas resultantes enriqueam
temporariamente o solo.
Prtica nacional
Todos os anos milhares de incndios ocorrem por
todo o Brasil em taxas to elevadas que se torna difcil
estimar com preciso a rea total atingida pelo fogo.
Analisando os dados de focos de calor do Proarco, numa
srie temporal de 1992 at outubro de 2005 para todo o
territrio brasileiro, foi observado um elevado nmero de
focos de calor nos anos 1992 e 1993 (243.876).
A partir da, os focos de calor diminuram at 1996.
Mas, nos ltimos nove anos, foram registrados aumentos
expressivos na quantidade de focos de calor, indicando
uma tendncia de crescimento. No ano de 2000, o nmero
de focos de calor atingiu a marca de 234.360, sendo que
58% deles ocorreram apenas na Amaznia Legal.
Concentrao na Amaznia
Observa-se claramente que a Amaznia Legal contro-
la as tendncias do total anual de focos de calor no Brasil.
Analisando os focos de calor por estado, observa-se que,
*Pesquisador em Ecologia da Paisagem no Instituto Nacional
de Pesquisas da Amaznia (Inpa)
QUEIMADAS
ARNALDO CARNEIRO FILHO*
Milhares de incndios ocorrem no Pas em conseqncia
de uma prtica cultural que devasta as forestas
Freqncia das queimadas no Cerrado aumentou nos ltimos anos.
M
A
R
I
O
F
R
I
E
D
L
N
D
E
R
Q
U
E
I
M
A
D
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 284
FLORESTAS
assim como a Amaznia controla o padro dos focos no
Brasil, alguns estados exercem o mesmo papel dentro da
Amaznia, como o caso de Mato Grosso, Par e Rond-
nia. Isto se deve ao fato de estarem situados na fronteira
de colonizao e expanso agrcola, onde o fogo usado
como ferramenta de limpeza do terreno.
Na Amaznia, as queimadas concentram-se princi-
palmente no arco de desflorestamento, que corresponde
rea de expanso da fronteira agrcola. Os principais tipos
de incndio que ocorrem na regio amaznica do arco do
desflorestamento so: incndios de desmatamento, que
objetivam limpar reas recm-desflorestadas e prepar-
las para campos agrcolas e pastagens, incndios em reas
desmatadas e incndios florestais acidentais.
Estudos indicam que a rea total de floresta ama-
znica afetada por fogo de superfcie pode ter a mesma
magnitude da rea afetada pelo desflorestamento. Parte
dessas queimadas acaba fugindo do controle e penetra na
floresta sob a forma de incndio florestal. Todos os anos
milhares de km
2
da floresta amaznica so queimados
por incndios acidentais, independente da ocorrncia
de fenmenos climticos como o El Nio, que entre final
de 1997 e incio de 1998 criou condies para que uma
rea estimada entre 38.144 e 40.678 km
2
de diversas
fitofisionomias queimasse no Estado de Roraima.
Os efeitos ecolgicos dos incndios na Amaznia
atingem uma escala global, pois influenciam a compo-
sio qumica da atmosfera, a refletncia da superfcie
da terra e fenmenos que esto fortemente ligados ao
clima. Um dos impactos ecolgicos mais importantes dos
fogos na floresta talvez seja o aumento da probabilidade
do fogo tornar-se uma caracterstica permanente da
paisagem. Tambm aumenta o fluxo de carbono para a
atmosfera. A estrutura da floresta modificada, havendo
um aumento da populao de espcies tolerantes ao fogo.
O ciclo hidrolgico alterado, afetando o clima que est
ligado com a floresta principalmente pelo intercmbio
de vapor de gua.
Historicamente as queimadas no Brasil sempre
estiveram concentradas nos biomas de fitofisionomia
aberta, como o caso do Cerrado, da Caatinga, do Pan-
tanal e do Pampa. Com o avano sobre o Cerrado a partir
dos anos 1970 e, posteriormente, sobre a Amaznia, o
problema do fogo passou a ser uma questo amaznica
tambm. A sobreposio desta prtica aos fenmenos
ocasionais de fortes secas vem chamando a ateno dos
grupos envolvidos com a gesto ambiental.
A partir do ano 2000, o Cerrado, at ento o bioma
mais afetado pela presena de fogos anuais, cedeu o lugar
para a Amaznia, que com 17% da sua rea j desmatada,
somadas aos 12-14% de enclaves de Cerrado, j possui
rea suficiente para que os fogos, enquanto prtica
cultural, sejam deveras importantes. Se tomarmos o ano
de 2002, um dos mais importantes em termos de focos
de calor dos ltimos 15 anos, com seus 236.049 focos
observados, teremos que somente o bioma Amaznia
foi responsvel por cerca de 51% do total.
Se os padres de ocupao da Amaznia continu-
arem da mesma forma, onde o uso indiscriminado do
fogo como ferramenta do processo de desmatamento
est amplamente difundido e poucas iniciativas gover-
namentais forem tomadas para reverter esse processo,
estima-se um aumento significativo na freqncia e rea
afetada pelo fogo.
SAIBA MAIS Monitoramento dirio de queima-
das no Brasil (www.cptec.inpe.br/queimadas).
VEJA TAMBM Amaznia (pg. 83); Desmata-
mento (pg. 276); O Brasil e a Mudana Climtica
(pg. 365).
Alguma sugesto,
correo, atualizao?
Mande mensagem para
almanaquebrasilsa@socioambiental.org
ou pelo correio:
ISA, Av. Higienpolis, 901,
01238-001, So Paulo, SP.
M
A
N
E
J
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 285
FLORESTAS
MANEJO
ANDR GIACINI DE FREITAS*
Manejo forestal: um meio de contribuir para a conservao do meio ambiente
*Diretor de Polticas e Padres do FSC Internacional
Na l ti ma dcada, tem aumentado de modo
significativo o manejo das florestas no Brasil, gerando
benefcios sociais, ambientais e econmicos para toda
a sociedade. Hoje, o manejo pode ser considerado uma
estratgia interessante para a conservao de nossas
florestas, complementar a outras como o estabelecimento
de reas de proteo integral.
O manejo florestal um conjunto de tcnicas empre-
gadas para produzir um bem (madeira, frutos e outros)
ou servio (como a gua, por exemplo) a partir de uma
floresta, com o mnimo de impacto ambiental possvel,
garantindo a sua manuteno e conservao a longo pra-
zo. Desse modo, com o manejo florestal possvel manter
as florestas de p, gerando benefcios contnuos para o
meio ambiente e para a sociedade. Algumas vezes ele
tambm chamado de manejo florestal sustentvel.
O Brasil um pas com diversos tipos de ambientes e
todos podem ser manejados, como a Floresta Amaznica,
o Cerrado, a Mata Atlntica e a Caatinga. Alguns desses
ambientes se encontram melhor conservados, outros
tm apenas uma pequena parte da sua rea original. As
principais florestas remanescentes no Brasil esto loca-
lizadas na Amaznia e ali que o manejo tem crescido
nos ltimos anos.
possvel fazer manejo em qualquer tipo de floresta,
com a possibilidade de produo de diversos tipos de
produtos, alguns bem conhecidos, como a madeira e a
castanha-do-par, e outros nem tanto, como a erva-mate,
o palmito, a piaava, o pinho e muitas flores, frutas,
leos e fibras. Atravs do manejo, tambm podem ser
mantidos diversos servios ambientais proporcionados
pelas florestas, como a manuteno da qualidade da
gua, conservao do solo e regulao do clima (ver
Servios Ambientais, pg. 459).
Infelizmente, no Brasil, grande parte desses produ-
tos, em especial a madeira, obtida de forma predatria,
Produtor comunitrio, em Boa Vista do Ramos (AM).
A
R
Q
U
I
V
O
I
M
A
F
L
O
R
A
M
A
N
E
J
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 286
FLORESTAS
VOC SABIA?
M
3% de toda madeira produzida na
Amaznia e 35 % das plantaes
forestais no Brasil so certifcadas FSC.
M
Em abril de 2007, a rea certifcada FSC no
mundo equivalia a quase quatro vezes a rea do
estado de So Paulo.
MUDANA DE HBITO
A Associao de Produtores Rurais em Manejo
e Agricultura (Apruma), do Acre, uma associao
de produtores de um projeto de assentamento do
Incra. Tradicionalmente, esses produtores no
enxergavam valor na foresta e a consideravam
um empecilho, achando que era melhor desmatar
logo a rea para criar gado ou plantar alguma coisa
que desse retorno.
Foi ento que a Embrapa comeou a
discutir com os produtores a possibilidade de
fazer manejo em suas reas de reserva legal.
A Apruma passou a manejar as suas florestas
para a produo de madeira e decidiu buscar
a certificao FSC como forma de mostrar aos
consumidores que estava fazendo um trabalho
bem feito.
Atravs do manejo e da certifcao, os produ-
tores da Apruma aumentaram sua renda familiar e
passaram a enxergar a foresta de outra maneira.
Ela passou a ser vista como algo valioso e do qual
eles devem cuidar bem, de modo que continue
produzindo benefcios sociais, ambientais e eco-
nmicos para eles e suas famlias.
SAIBA MAIS Manejo Florestal (www.manejo
forestal.org.br); FSC (www.fsc.org.br); Imafora
(www.imafora.org); Imazon (www.imazon.org.
br).
VEJA TAMBM Poltica Florestal (pg. 274);
Desmatamento (pg. 276); Recuperao Flores-
tal (pg. 288); Consumo Sustentvel (pg. 428).
por meio da explorao ilegal ou at mesmo do desma-
tamento. Isto , eles no so obtidos atravs do manejo
da floresta, gerando impactos negativos sobre o meio
ambiente e a sociedade brasileira.
Existe ainda um outro problema, que a competio
desleal desses produtos predatrios com os produtos
oriundos do manejo florestal. Assim, quem faz manejo,
que tem tudo certo, respeita o meio ambiente, as leis e
paga seus impostos, tem que competir no mercado com
algum que trabalha de forma ilegal e tem custos mais
baixos. Isso acontece porque a madeira ou um produto
florestal de origem manejada igual na aparncia a
um produto de origem predatria, apesar de eles terem
histrias muito diferentes.
Certifcao
Para tentar trabalhar com essa questo e ajudar os
consumidores a distinguirem entre produtos forestais
provenientes do manejo e produtos forestais de origem
predatria, surgiu a certifcao independente. Ela a ga-
rantia para o consumidor de que um determinado produto
vem de uma foresta manejada, que est gerando emprego
e renda ao mesmo tempo que respeita o meio ambiente.
Assim, o consumidor pode escolher comprar um produto
do qual ele conhece a origem e sabe que sua compra est
contribuindo para conservar nossas forestas.
A certificao florestal mais conhecida atualmente
e a de maior credibilidade a do Forest Stewardship
Council (FSC), conhecido em portugus como Conselho de
Manejo Florestal, uma organizao no-governamental
que tem como misso promover o bom manejo das
florestas do mundo.
Para conseguir a certificao FSC, um empreendi-
mento florestal tem que cumprir uma srie de regras
sociais, ambientais e econmicas, tambm chamadas de
padres, que so definidas pela sociedade. Uma equipe
ZOOM
M
A
N
E
J
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 287
FLORESTAS
de avaliao independente utiliza essas regras ou padres
para verificar se o manejo da floresta est sendo bem feito
e se os produtos dessa floresta podem levar o selo FSC.
Tambm possvel manejar e certificar plantaes
florestais, mais comuns no Sul e Sudeste do Brasil, e em
alguns locais do Nordeste. As plantaes florestais, se
bem manejadas, podem ter um papel importante para o
meio ambiente, contribuindo para a conservao do solo,
qualidade da gua e preservao de matas nativas dentro
de suas reas. As plantaes contribuem ainda para dimi-
nuir a presso sobre as florestas naturais, suprindo parte
da demanda da sociedade por produtos florestais.
A certificao de plantaes uma maneira de ga-
rantir que reas plantadas cumpram com a legislao
brasileira, minimizam o impacto ambiental de suas
operaes e respeitam ou esto recuperando as suas reas
de Reserva Legal e de Preservao Permanente (ver
Poltica Florestal, pg. 274). Alm disso, a certificao
requer que as empresas estejam cumprindo com acordos
internacionais, como os da Organizao Internacional do
Trabalho (OIT) e que os trabalhadores florestais possuam
empregos dignos e seguros.
A certificao FSC tem crescido bastante e hoje j
possvel encontrar diversos produtos com o selo do FSC,
como mveis, pisos, portas, esquadrias, chapas a base de
fibra de madeira e at mesmo vrios produtos florestais
no-madeireiros, como leo de copaba, a resina do breu,
erva-mate, castanha-do-par e outros.
No ms de abril de 2007, existiam mais de 92 milhes
de hectares de florestas certificadas no mundo inteiro.
O Brasil lder entre os pases em desenvolvimento na
certificao FSC, com cerca de cinco milhes de hectares
certificados, divididos em aproximadamente 2,8 milhes
de hectares em florestas naturais e 2,2 milhes de hec-
tares em plantaes.
Todos ns utilizamos produtos florestais no nosso
dia-a-dia, mas em geral no fazemos a ligao entre esse
consumo e o que pode estar acontecendo com as florestas
brasileiras. Atravs da certificao, podemos fazer com
que nossas escolhas de consumo incentivem quem est
fazendo manejo, contribuindo para que nossas florestas
continuem de p, gerando renda, empregos e servios
para a sociedade.
F
O
T
O
S
:
A
R
Q
U
I
V
O
I
M
A
F
L
O
R
A
/
M
I
L
M
A
D
E
I
R
E
I
R
A
Diferentes tipos de manejo forestal: acima, arraste de
madeiras da empresa Mil Madeireira, Itacoatiara (AM);
no meio, castanha-do-par ensacada e, abaixo, rvores
de seringa.
R
E
C
U
P
E
R
A
O
F
L
O
R
E
S
T
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 288
FLORESTAS
RECUPERAO FLORESTAL
RICARDO MIRANDA DE BRITEZ* E ANDR ROCHA FERRETTI**
A recuperao forestal realiza-se atravs de uma srie de atividades visando
o restabelecimento da foresta em sua composio, estrutura e funcionamento
Dois aspectos principais devem ser considerados ao se
propor um projeto de recuperao forestal: a defnio do
objetivo a ser alcanado e as tcnicas utilizadas.
O estabelecimento de uma foresta tem objetivos
ambientais e econmicos, ou ambos. Sob o ponto de
vista ambiental, a foresta permite a proteo da biodi-
versidade, de mananciais de gua, conectividade entre
fragmentos forestais, estabilizao de encostas, resta-
belecimento da paisagem cnica, barreira contra o vento,
equilbrio climtico, captura de carbono, recuperao do
solo, controle de poluio e rudo e outras (ver Manejo,
pg. 285). No aspecto econmico, visa a produo de
madeira, alimentos, produtos medicinais e industriais e
paisagismo. Algumas atividades conciliam as duas, como
os sistemas agroforestais, que so forestas que visam
produo, mas que, at um certo nvel, proporcionam
a conservao ambiental, servindo muitas vezes como
regio de transio entre uma rea de uso mais intenso
(agropecuria) e forestas nativas. Para recuperar deter-
minada rea necessrio fazer uma avaliao prvia,
pesquisando de que forma essa rea foi degradada, por
exemplo, respondendo a questes como: h quanto tempo
foi retirada a foresta? No local foi implantada agricultura,
pecuria ou minerao? O solo foi removido? Dessa forma,
possvel identifcar o nvel de exausto do solo. A partir
destas caractersticas, verifcamos se h condio para o
crescimento das rvores e se ser necessrio fazer alguma
interveno para permitir um bom desenvolvimento da
nova vegetao. Aps a verifcao do uso anterior do solo
necessrio saber como esto as condies atuais do solo,
avaliando suas condies fsicas e qumicas.
Para planejar a restaurao, tambm necessrio
avaliar as caractersticas do ambiente de entorno, princi-
palmente os remanescentes forestais bem conservados
e os locais j degradados. Estes servem de referncia para
o entendimento do comportamento da vegetao nas
diferentes situaes de perturbao. Os remanescentes
conservados so referncias de onde se quer chegar com
a recuperao e as reas degradadas, de como ocorrem
os processos naturais de recuperao. Assim possvel
conhecer aspectos da sucesso da foresta, ou seja, aps
diferentes tipos de perturbao, como as diferentes esp-
cies vegetais esto ocupando essa rea e que modifcaes
esto ocorrendo no ambiente como um todo, incluindo
as do solo e da fauna. Conhecer as forestas implica saber
quais so as espcies de rvores que crescem naquele tipo
de solo e clima, se elas crescem melhor quando expostas
luz do sol ou sombra, se h condio de os animais
trazerem sementes e aumentarem o nmero de espcies
*Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educao Ambiental (SPVS)
* cachoeira@spvs.org.br
**Fundao O Boticrio de Proteo Natureza
Iniciativas de reforestamento nas cabeceiras do Rio Xingu. SAIBA MAIS www.yikatuxingu.org.br
F
O
T
O
S
:
A
C
E
R
V
O
I
S
A
R
E
C
U
P
E
R
A
O
F
L
O
R
E
S
T
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 289
FLORESTAS
INICIATIVAS BUSCAM RECUPERAR A MATA ATLNTICA
Vrias experincias vm sendo realizadas visando restaurar a Floresta Atlntica,
abordando diferentes aspectos:
A Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da USP de Piracicaba, e a Companhia Energtica de
So Paulo (Cesp) realizam o projeto Restaurao de Florestas com Espcies Nativas no Entorno dos Reservatrios
Hidreltricos da Cesp. O trabalho, iniciado em 1988, consiste na conduo de pesquisas e no plantio em reas
degradadas no entorno de quatro reservatrios da Cesp. Milhes de mudas j foram plantadas pelo projeto.
Em Linhares (ES), a Reserva Florestal da Vale do Rio Doce, com cerca de 22 mil hectares, administrada pela
Companhia Vale do Rio Doce, produz milhares de mudas por ano de centenas de espcies diferentes. As mudas
produzidas so utilizadas, principalmente, na recuperao de reas degradadas, alm de serem vendidas para
programas de arborizao urbana e recuperao de matas ciliares.
Visando minimizar os efeitos do aquecimento global, a Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educao
Ambiental (SPVS), em parceria com a The Nature Conservancy (TNC), est desenvolvendo projetos de seqestro
de carbono (ver Mudana Climtica Global, pg. 358) na APA de Guaraqueaba, no litoral do Paran. Esto
sendo recuperados 1.500 hectares de reas de antigas pastagens de bfalos asiticos e preservados 20.000 hectares
de um dos trechos mais conservados de Floresta Atlntica brasileira. At o fnal de 2006, j haviam sido plantadas
cerca de 700.000 mudas produzidas nos dois viveiros da SPVS.
O Floresta Viva, projeto idealizado pelo Instituto de Estudos Socioambientais do Sul da Bahia (Iesb) e hoje uma
ONG independente, desde 2001 desenvolve programa na rea de Proteo Ambiental Itacar, onde agricultores
plantam mudas para a recuperao de matas ciliares e outras reas protegidas.
Em Santa Catarina, a Associao de Preservao do Meio Ambiente do Alto do Vale do Itaja (Apremavi) desenvolve,
desde 1996, o projeto de enriquecimento de forestas secundrias por meio de manejo forestal. A experincia iniciou
com um projeto piloto de 13 hectares e foi replicada em 78 outras propriedades em 19 municpios, com plantio de 218
mil mudas de 60 espcies da Mata Atlntica.
VEJA TAMBM Mata Atlntica (pg. 144).
ZOOM
O Instituto Terra, Aimors (MG), mantm um viveiro de mudas e equipes de reforestamento.
F
O
T
O
S
:
I
N
S
T
I
T
U
T
O
T
E
R
R
A
R
E
C
U
P
E
R
A
O
F
L
O
R
E
S
T
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 290
FLORESTAS
que vo recuperar a rea, se a muda de determinada espcie
cresce bem no viveiro, se esta muda vai se desenvolver bem
no campo e uma srie de outras questes, embasadas no
conhecimento da natureza do local.
Muitas vezes, para restaurar uma rea, no necessrio
o plantio de mudas. A prpria natureza se restabelece sozi-
nha, o que chamamos de regenerao natural.
SAIBA MAIS Galvo, A. P. M.; Medeiros, A. C. de S.
(Eds.). A restaurao da Mata Atlntica em reas de
sua primitiva ocorrncia natural. Colombo: Embrapa
Florestas, 2002. 134 p.; Kageyama, Paulo Y. et al
(Orgs.). Restaurao ecolgica de ecossistemas natu-
rais. Botucatu: Unesp/Fepaf, 2003. 340 p.; Crestana,
M. de S. M. (org.); Ferretti, A. R.; Toledo Filho, D. V.
de; rbocz, G. de F.; Schmidt, H. A. P.; Guardia, J. F.
C. Florestas - Sistemas de Recuperao com Essncias
Nativas, Produo de Mudas e Legislaes. 2 ed.
Campinas, CATI, 2004. 219 pginas.; Manual de re-
cuperao de reas degradadas pela minerao: tc-
nicas de revegetao. Braslia: Minter/Ibama, 1990;
Rede de Sementes Florestais Rio - So Paulo (www.
sementesriosaopaulo.sp.gov.br).
VOC SABIA?
M
Plantada no meio da cidade do Rio de
Janeiro se encontra a maior foresta urbana do
mundo, a Floresta da Tijuca, primeira grande
restaurao forestal do Brasil. Primitivamente
toda a regio era ocupada por densa cobertura
de Mata Atlntica. Tal foresta foi quase intei-
ramente substituda, em razo da retirada
de madeira de construo para o Rio, lenha e
carvo para consumo de numerosos engenhos
de cana-de-acar, olarias e fns domsticos,
bem como da expanso da lavoura cafeeira
em quase toda a rea. J em 1658 se falava
na defesa das forestas para proteo dos ma-
nanciais, havendo representaes populares
contra intrusos e moradores que loteavam as
terras e tornavam impuras as guas. Em 1844,
aps uma grande seca, o ministro Almeida
Torres props as desapropriaes e os plantios
das reas para salvar os mananciais do Rio. Em
1862, foi nomeado o major Manuel Gomes
Archer para tomar conta da rea, inicialmente,
com a mo-de-obra de seis escravos da Unio
escolhidos entre os considerados inteis para
qualquer outro tipo de trabalho, um menino
de doze anos, uma mulher e quatro homens
com mais de cinqenta anos. Em dez anos,
plantaram 76.394 rvores. A partir da, a
natureza restaurou-se e hoje temos o Parque
Nacional da Tijuca quase totalmente forestal,
com uma fora rica e diversifcada com espcies
nativas e exticas.
NO CONFUNDA...
M
Restaurao a utilizao de tcnicas de
manejo para a restituio das caractersticas
funcionais, estruturais e de diversidade de
um ecossistema degradado condio mais
prxima possvel da original.
M
Recuperao restituir certos processos
funcionais de ecossistemas extremamente
degradados (ex: reas de minerao, reas
urbanas), sem que com isto retorne condio
original, devido intensa degradao a que foi
submetido. Em certos casos, a recuperao pode
ser um passo da restaurao.
M
Reforestamento termo aplicado para
plantio homogneo de espcies arbreas, em
sua grande parte exticas, mas tambm com
espcies nativas, para fns comerciais.
M
Reabilitao similar restaurao,
com aes sobre os ecossistemas degradados
para que restituam elementos da estrutura
e do funcionamento, sem atingir o estado
original.
GUA
Estudiosos prevem que em breve a gua ser causa principal de confitos entre
naes. J existem sinais dessa tenso em reas do Planeta como Oriente Mdio e
frica. A escassez tende a se alastrar para outras regies. O Brasil possui cerca de
12% da gua doce superfcial existente no mundo. Sua distribuio desigual pelo
territrio nacional, concentrando-se principalmente na Bacia Amaznica. Os brasilei-
ros, que sempre se consideraram dotados de fontes inesgotveis, vem algumas de
suas cidades sofrerem falta de gua. As causas dessa escassez vo alm dos aspectos
naturais de distribuio. Como o caso da cidade de So Paulo, que, embora nascida
na confuncia de vrios rios, viu a poluio tornar imprestveis para consumo as
fontes prximas e tem de captar gua de bacias distantes, alterando cursos de rios e
a distribuio natural da gua na regio. Essa situao no exceo. Atualmente, a
grande maioria do esgoto gerado em todas as cidades brasileiras despejada sem
qualquer tratamento nos corpos dgua. E, com isso, o Pas dos rios comea a se
transformar no Pas dos esgotos.
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 291
Disponibilidade e Distribuio, pg. 292
Confitos de Uso, pg. 298
Saneamento Bsico, pg., 303
Barragens, pg. 311
Esporte e Lazer, pg. 313
Hidrovias, pg. 314
Indstria, pg. 315
Irrigao, pg. 317
Pesca, pg. 319
D
I
S
P
O
N
I
B
I
L
I
D
A
D
E
E
D
I
S
T
R
I
B
U
I
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
GUA
292
DISPONIBILIDADE E DISTRIBUIO
Embora o Brasil seja o primeiro pas em disponibilidade hdrica em rios do mundo
a poluio e o uso inadequado comprometem esse recurso em vrias regies
O Brasil concentra em torno de 12% da gua doce
do mundo disponvel em rios e abriga o maior rio em
extenso e volume do Planeta, o Amazonas. Alm dis-
so, mais de 90% do territrio brasileiro recebe chuvas
abundantes durante o ano e as condies climticas e
geolgicas propiciam a formao de uma extensa e densa
rede de rios, com exceo do Semi-rido, onde os rios so
pobres e temporrios.
Essa gua, no entanto, distribuda de forma irregu-
lar, apesar da abundncia em termos gerais. A Amaznia,
onde esto as mais baixas concentraes populacionais,
possui 78% da gua superficial. Enquanto isso, no Sudes-
te, essa relao se inverte: a maior concentrao popula-
cional do Pas tem disponvel 6% do total da gua.
Mesmo na rea de incidncia do Semi-rido (10% do
territrio brasileiro; quase metade dos estados do Nordeste),
no existe uma regio homognea. H diversos pontos onde
a gua permanente, indicando que existem opes para
solucionar problemas socioambientais atribudos seca.
A gua limpa est cada vez mais rara na Zona Costeira
e a gua de beber cada vez mais cara. Essa situao resulta
da forma como a gua disponvel vem sendo usada: com
desperdcio que chega entre 50% e 70% nas cidades
, e sem muitos cuidados com a qualidade.
Assim, parte da gua no Brasil j perdeu a caracte-
rstica de recurso natural renovvel (principalmente nas
reas densamente povoadas), em razo de processos de
urbanizao, industrializao e produo agrcola, que
so incentivados, mas pouco estruturados em termos de
preservao ambiental e da gua.
Nas cidades, os problemas de abastecimento esto
diretamente relacionados ao crescimento da demanda, ao
desperdcio e urbanizao descontrolada que atinge
regies de mananciais. Na zona rural, os recursos hdricos
A
L
B
A
N
I
R
A
M
O
S
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
(
1
9
9
5
)
Torneira comunitria: abastecimento de gua chega cidade de Presidente Jos Sarney, a 343 km de So Lus (MA).
D
I
S
P
O
N
I
B
I
L
I
D
A
D
E
E
D
I
S
T
R
I
B
U
I
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 293
GUA
tambm so explorados de forma irregular, alm de parte
da vegetao protetora da bacia (mata ciliar) ser destruda
para a realizao de atividades como agricultura e pecuria.
No raramente, os agrotxicos e dejetos utilizados nessas
atividades tambm acabam por poluir a gua.
A baixa efcincia das empresas de abastecimento se
associa ao quadro de poluio: as perdas na rede de distri-
buio por roubos e vazamentos atingem entre 40% e 60%,
alm de 64% das empresas no coletarem o esgoto gerado. O
saneamento bsico no implementado de forma adequada,
j que 80% dos esgotos domsticos e 70% dos efuentes in-
dustriais so jogados sem tratamento nos rios, audes e guas
litorneas, o que tem gerado um nvel de degradao nunca
imaginado (ver Saneamento Bsico, pg. 303).
A GUA NO MUNDO
A quantidade de gua doce no mundo estocada em rios e lagos, pronta para o consumo, sufciente para
atender de seis a sete vezes o mnimo anual que cada habitante do Planeta precisa. Apesar de parecer abundante,
esse recurso escasso: representa apenas 0,3% do total de gua no Planeta. O restante dos 2,5% de gua doce est
nos lenis freticos e aqferos, nas calotas polares, geleiras, neve permanente e outros reservatrios, como
pntanos, por exemplo. Se em termos globais a gua doce sufciente para todos, sua distribuo irregular no
territrio. Os fuxos esto concentrados nas regies intertropicais, que possuem 50% do escoamento das guas.
Nas zonas temperadas, esto 48%, e nas zonas ridas e semi-ridas, apenas 2%. Alm disso, as demandas de uso
tambm so diferentes, sendo maiores nos pases desenvolvidos.
O cenrio de escassez se deve no apenas irregularidade na distribuio da gua e ao aumento das demandas
o que muitas vezes pode gerar confitos de uso mas tambm ao fato de que, nos ltimos 50 anos, a degradao
da qualidade da gua aumentou em nveis alarmantes. Atualmente, grandes centros urbanos, industriais e reas
de desenvolvimento agrcola com grande uso de adubos qumicos e agrotxicos j enfrentam a falta de qualidade
da gua, o que pode gerar graves problemas de sade pblica. O aquecimento global poder agravar ainda mais
esse quadro (ver Mudana Climtica Global, pg. 358).
DISTRIBUIO DE GUA DOCE
E SALGADA NO MUNDO
DISTRIBUIO DE GUA DOCE
NO MUNDO
GUA
SALGADA
97,5%
g
u
a
t
o
t
a
l
gua doce
2,5%
0,3%*
69%
0,9%
30%
0,3% gua doce em rios e lagos (93.000 km3)
* Esta a poro de gua doce renovvel.
** Incluindo umidade do solo, placas de gelo futuante, pantono, solo permanentemente congelado.
F
o
n
t
e
:
I
g
o
r
S
h
i
k
l
o
m
a
n
o
v
,
W
o
r
l
d
F
r
e
s
h
W
a
t
e
r
R
e
s
o
u
r
c
e
s
e
m
P
e
t
e
r
H
.
G
l
e
i
c
k
,
e
d
.
,
W
a
t
e
r
i
n
C
r
i
s
i
s
:
A
G
u
i
d
e
t
o
t
h
e
W
o
r
l
d
s
F
r
e
s
h
W
a
t
e
r
R
e
s
o
u
r
c
e
s
,
1
9
9
3
.
30% gua doce subterrnea (10.530.000 km3)
0,9% outros (342.000 km3)**
69% geleiras e cobertura permanente de neve (24.060.000 km3)
D
I
S
P
O
N
I
B
I
L
I
D
A
D
E
E
D
I
S
T
R
I
B
U
I
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
GUA
294
A Lei das guas definiu a bacia hidrogrfica
como unidade territorial para a implementao da
PNRH. Com a fnalidade de orientar, fundamentar e
implementar o Plano Nacional de Recursos Hdricos, o
Conselho Nacional de Recursos Hdricos criou, em 2003, a
Diviso Hidrogrfca Nacional em Regies Hidrogrfcas.
As regies hidrogrfcas brasileiras so espaos territoriais
que abrangem uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias
hidrogrfcas contguas, com caractersticas naturais, so-
ciais e econmicas homogneas ou similares, com vistas a
orientar o planejamento e o gerenciamento dos recursos
hdricos. (ver Legislao Brasileira, pg. 482)
A regio amaznica a de maior extenso ter-
ritorial, seguida pela do TocantinsAraguaia e pela
do Rio Paran. Em relao densidade demogrfca
(habitantes por rea), a regio do Atlntico Sudeste,
Atlntico Nordeste Oriental, Atlntico Sul e Paran
detm as maiores densidades, e Amaznica, Paraguai
e TocantinsAraguaia, as menores.
A diviso apresentada, embora consiga retratar
espacialmente a variabilidade hidrolgica do Pas, no
sufciente para o enfrentamento dos problemas de ges-
to de recursos hdricos, dadas as extensas dimenses
geogrfcas e a diversidade de situaes e desafos que
encerram. Sendo assim, esto sendo traados outros
recortes espaciais para unidades de planejamento e
gesto dos recursos hdricos que contemplem, para alm
das variveis hidrolgicas, a tipologia dos problemas,
os aspectos ambientais, a dinmica socioeconmica e
fatores de cunho poltico e institucional.
Presses e impactos
A Amaznia a regio brasileira de maior
abundncia em recursos hdricos, com 74% da gua
disponvel no territrio nacional. Os fatores que contri-
buem para essa disponibilidade so: alta precipitao
mdia regional (2.240 mm), dimenses da bacia do Rio
Amazonas e de seus principais afuentes, no somente
REGIES HIDROGRFICAS BRASILEIRAS
MARUSSIA WHATELY*
*Arquiteta, coordenadora do Programa Mananciais de So Paulo do ISA
em territrio nacional como tambm nos pases de
montante (Venezuela, Colmbia, Peru e Bolvia) e po-
pulao rarefeita. Entre os principais usos das guas est
a navegabilidade, com os maiores rios constituindo-se
nos principais corredores de transporte e comunicao
da regio. Outro uso importante a pesca, tanto para
subsistncia como para abastecimento dos mercados
locais e de outras regies do Pas. J existem problemas
com abastecimento domstico no entorno das aglome-
raes urbanas, principalmente em Manaus e na regio
metropolitana de Belm. Estas regies concentram
graves pontos de contaminao das guas, resultado da
ausncia de esgotamento sanitrio adequado.
Alto Paraguai drena a chamada plancie panta-
neira, uma das maiores reas midas do Planeta. Este
aspecto confere a esta regio elevada im portncia am-
biental, fortemente marcada pela inte rao entre
ecossistemas e recursos hdricos, em especial, pela di-
menso das cheias e durao dos perodos de estiagem.
Tais caractersticas contribuem para alta fragilidade
desse ecossistema. Os recursos hdricos na Bacia so
utilizados principalmente para irrigao e dessedenta-
o de rebanhos. Os principais problemas esto relacio-
nados com: expanso de novas fronteiras agrcolas que
podem resultar em eroso e poluio por agroqumicos;
ausncia de tratamento adequado de esgotos nos
centros urbanos; remoo da mata ciliar e pisoteamen-
to das margens para acesso dos rebanhos gua.
A regio do Cerrado, caracterizada por perodos
de chuvas intensas e estiagens severas, tem pocas
com baixssima disponibilidade de gua. Na regio,
existe crescente expanso das culturas de gros, com
larga utilizao da gua para irrigao. Essa prtica
tambm utilizada em pastagens. Essa super-explo-
rao de recursos hdricos j vem causando confitos
de uso, em especial com o abastecimento de gua para
D
I
S
P
O
N
I
B
I
L
I
D
A
D
E
E
D
I
S
T
R
I
B
U
I
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 295
GUA
cidades, como o Distrito Federal e Goinia. Nos perodos
de cheias, surgem problemas de contaminao por
agroqumicos e assoreamento.
O Semi-rido caracteriza-se pela escassez de
recursos hdricos, com baixa precipitao anual mdia e
elevada variabilidade na distribuio espacial e temporal
de chuvas na regio, somado s limitaes para uso das
guas subterrneas em decorrncia da salobridade dos
solos. Essas caractersticas resultam em uma rede hidro-
grfca onde so freqentes os rios intermitentes. As
condies climticas difcultam o simples armazenamento
de gua em audes e reservatrios, dada a signifcativa
evaporao. A regio conta com elevado contingente de
populao com srios problemas de acesso gua. O Rio
So Francisco conta com grande perenidade. Em 2007,
foram iniciadas as licitaes para as obras de transposio.
(ver A Transposio do So Francisco, pg. 124)
No litoral e Zona da Mata do Nordeste reside
grande parte da populao do Nordeste, concentrada
principalmente nas regies metropolitanas, com altas
taxas de ocupao de reas ambientalmente frgeis,
como alagados, encostas, vrzeas e margens de rios e
crregos. A disponibilidade hdrica tem como principal
ameaa o comprometimento da qualidade por poluio
urbana, originada de esgotos domsticos, disposio de
resduos slidos e efuentes industriais no tratados.
Somada poluio das guas, est a super-explorao
dos aqferos, em especial em Recife.
As regies metropolitanas e aglomerados
urbanos do Sul e Sudeste contam com boas disponi-
bilidades e distribuio de gua, porm, j apresentam
problemas srios em funo da intensa poluio urbana
e industrial. Soma-se a esse cenrio as enchentes resul-
tantes da ocupao indevida das margens de rios.
Na zona costeira do Sul e Sudeste as defcin-
cias de infra-estrutura so semelhantes s das regies
metropolitanas, com o agravante de que os municpios
contam com um elevado fuxo sazonal de populao de
veraneio, que implica em alternncias entre ociosidade
e sobrecarga das infra-estruturas.
SAIBA MAIS Geo Brasil-Recursos Hdricos (http://
www.ana.gov.br/SalaImprensa/projetos/livro_
GEO.pdf ).
AS 12 REGIES HIDROGRFICAS E A DIVISO
POLTICOADMINISTRATIVA DO BRASIL
Fonte: Geo Brasil-Recursos Hdricos, ANA, pgina 34
D
I
S
P
O
N
I
B
I
L
I
D
A
D
E
E
D
I
S
T
R
I
B
U
I
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
GUA
296
SAIBA MAIS Agncia Nacional de guas (ANA) (www.ana.gov.br); gua Online Revista sobre gua e meio am-
biente (www.aguaonline.com.br); Blozzo, Jos Oscar; Rebouas, Aldo da Cunha; Malvezzi, Roberto; Silva, Marina;
Barros, Marcelo; Cappio, Lus Flavio, Dom Frei. gua vida: dom de Deus e responsabilidade humana. Editora Paulus.
VEJA TAMBM Confitos de uso (pg. 298).
Alternativas
A gua disponvel no territrio brasileiro sufciente
para as necessidades do Pas, apesar da degradao. Seria
necessrio, ento, mais conscincia por parte da populao
no uso da gua e, por parte do governo, um maior cuidado
com a questo do saneamento e abastecimento.
Por exemplo, 90% das atividades mo-
dernas poderiam ser realizadas com gua
de reuso. Alm de diminuir a presso
sobre a demanda, o custo dessa gua
pelo menos 50% menor do que o preo da
gua fornecida pelas companhias de saneamento,
porque no precisa passar por tratamento. Apesar
de no ser prpria para consumo humano, poderia
ser usada, entre outras atividades, nas indstrias, na
lavagem de reas pblicas e nas descargas sanitrias de
condomnios. Alm disso, as novas construes casas,
prdios, complexos industriais poderiam incorporar
sistemas de aproveitamento da gua da chuva, para os
usos gerais que no o consumo humano.
DISTRIBUIO DAS CHUVAS NO BRASIL
Fonte: DNPM/CPRM, 1983, in:
Rebouas, Aldo da C. et al (org.).
guas doces no Brasil. So Paulo:
Escrituras, 2002. p. 122.
O CICLO DA GUA
A gua se originou da liberao de grandes quantidades dos gases hidrognio e oxignio na atmosfera, que se
combinaram e deram origem aos vapores de gua. Durante o perodo de formao do Planeta, as temperaturas s
possibilitavam a gua em forma de vapor. medida que as temperaturas baixaram, os vapores se transformaram em
nuvens, que foram atradas pela gravidade e caram em forma de chuva na superfcie da Terra. Assim, houve acumulao
progressiva de gua principalmente na superfcie nos estados lquido e slido (gelo) e simultnea formao de vapor
de gua pelos mecanismos de evaporao e transpirao dos organismos vivos. A parcela que se infltrou na superfcie e
se acumulou entre as camadas de rochas do subsolo formou as guas subterrneas os lenis e os aqferos.
O ciclo hidrolgico o responsvel pela manuteno desse recurso natural acumulado na superfcie e no
interior do solo. Com o calor irradiado pelo Sol, grandes parcelas da massa de gua se transformam em vapor,
que se resfria medida que vai subindo atmosfera, condensa e forma nuvens, as quais voltam a cair na Terra
sob ao da gravidade, na forma de chuva, neblina e neve.
D
I
S
P
O
N
I
B
I
L
I
D
A
D
E
E
D
I
S
T
R
I
B
U
I
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 297
GUA
VOC SABIA?
M
A disponibilidade e qualidade dos recursos
hdricos esto intimamente ligadas s forestas,
que protegem as nascentes e mananciais e os
mantm limpos. A cobertura forestal melhora
processos de infiltrao e armazenamento
de gua, alm de diminuir o escoamento
superficial, que, se no for adequado, pode
causar enchentes (ver Servios Ambientais,
pg. 459).
M
O consumo dirio de gua por uma pessoa
de 90 kg de cerca de 3 litros (obtidos atravs de
gua pura, outras bebidas e alimentao).
M
Nos ltimos 20 anos, a populao mundial teve
um acrscimo de 1,8 bilho de pessoas, perodo
que resultou na diminuio de um tero das reser-
vas de gua doce. Estima-se que nos ltimos 60
anos a populao mundial duplicou, enquanto que
o consumo de gua multiplicou-se por sete.
COMO POSSO AJUDAR?
Nas atividades do cotidiano, usamos grandes
quantidades de gua ao dar a descarga, escovar
os dentes, tomar banho, lavar a roupa. O Instituto
Akatu de Consumo Responsvel ensina que
possvel adotar algumas atitudes simples que
poderiam economizar muita gua.
Se voc mora em apartamento e possuiu
uma ducha, consome em mdia, durante um ba-
nho de 10 minutos e com a torneira aberta meia
volta, 162 litros de gua. Se tomar um banho
por dia nessas condies, em um ano ter gasto
59.130 litros. No entanto, se conseguir reduzir
o tempo de gua corrente de seu banho para 5
minutos (fechando a torneia para se ensaboar e
lavar o cabelo, por exemplo), economizar, por
ano, 29.565 litros.
Se apenas 10% da populao do municpio de
So Paulo (aproximadamente 1 milho de pessoas,
moradoras de apartamentos) fzerem essa eco-
nomia de gua, o poupado durante um ano seria
sufciente para suprir, durante o mesmo perodo, a
demanda por gua de 405 mil pessoas na prpria
cidade de So Paulo (para todas as atividades
domsticas, alm do consumo prprio).
SAIBA MAIS (www.akatu.com.br).
ZOOM
AQFERO GUARANI
Um dos maiores trunfos do Brasil em relao
garantia de abastecimento o Aqfero Gua-
rani, maior reserva de gua doce subterrnea
do mundo. Do potencial de gua renovvel que
circula nessa reserva, entre 24% e 48% podem ser
explorados. No entanto, o Guarani no est s em
territrio brasileiro (onde est 70% do aqfero),
mas tambm na Argentina, Paraguai e Uruguai, o
que torna necessria a criao de uma regulao de
uso entre esses pases. Alm disso, existe a possi-
bilidade de contaminao por conta, entre outros
problemas, do grande nmero de poos operados
e abandonados sem tecnologia adequada.
SAIBA MAIS (www.sg-guarani.org).
Aps a Rio-92 (ver Conferncias Internacionais,
pg. 496), especialistas observaram que as diretrizes
e propostas para a preservao da gua no avanaram
muito e redigiram a Carta das guas doces no Brasil. Nela,
ressaltam a importncia de reverter o quadro de poluio,
planejar o uso de forma sustentvel com base na Agenda
21 e investir na capacitao tcnica em recursos hdricos,
saneamento e meio ambiente, alm de viabilizar tecnologias
para as particularidades de cada regio.
CONSULTOR: ALDO DA CUNHA REBOUAS
Prof. Emrito da USP, autor do livro O uso inteligente da gua e um dos organizadores e
coordenadores do livro guas Doces no Brasil: capital ecolgico, uso e conservao, ambos
publicados pela editora Escrituras
C
O
N
F
L
I
T
O
S
D
E
U
S
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 298
GUA
CONFLITOS DE USO
Os confitos pelo uso da gua comearam h quatro mil anos e, desde ento,
s aumentaram, devido s crescentes demandas do homem moderno
A gua utilizada, em todo o mundo, para diversas fna-
lidades, como o abastecimento de cidades e usos domsticos,
a gerao de energia, a irrigao, a navegao e a aqicultura
(pesca). Na medida em que os pases se desenvolvem, crescem
principalmente as indstrias e a agricultura, atividades que
mais consomem gua, se comparadas aos outros usos. O cen-
rio de escassez provocado pela degradao e pela distribuio
irregular da gua, somado ao aumento da demanda em vrias
atividades que dependem dela, gera confitos, seja dentro dos
prprios pases (como discusses para se decidir qual ser o
principal uso das guas de um rio) ou entre as naes (por
exemplo, no caso de bacias hidrogrfcas se localizarem
no territrio de mais de um pas).
No Brasil
A maior demanda por gua no Brasil, como acontece em
grande parte dos pases, a agricultura, sobretudo a irriga-
o, com cerca de 56% do total. O uso domstico responde
por 27% da gua, em seguida est a indstria (12%) e, por
ltimo, a pecuria (dessedentao animal), 5%.
Historicamente, o Brasil sempre privilegiou o uso
desse recurso para a produo de energia, em detrimento
de outros, como o abastecimento humano. No Cdigo
das guas, de 1934, o governo chamava a ateno para a
necessidade do aproveitamento industrial da gua e para
a implementao de medidas que facilitassem, em parti-
cular, seu potencial de gerao de hidreletricidade. Mas o
No semi-rido, os audes abastecem pessoas e animais. Historicamente, muitos coronis privatizaram a gua
de audes construdos com subsdios governamentais impedindo o acesso da populao.
J
O
O
P
A
U
L
O
C
A
P
O
B
I
A
N
C
O
C
O
N
F
L
I
T
O
S
D
E
U
S
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 299
GUA
MAPA DA DENSIDADE POPULACIONAL E DA DISTRIBUIO DOS VOLUMES
ESTOCADOS DAS PRINCIPAIS BACIAS DO PAS
A GUERRA MILENAR DA GUA
No auge da idade do gelo, h 20 mil anos, caadores e coletores de alimentos migraram para as regies
mais quentes da Terra, como a Mesopotmia dos rios Tigre e Eufrates, os vales dos rios Indo, na ndia e
Amarelo, na China. O controle dos rios comeou h cerca de 4 mil anos, poca em que as civilizaes dessas
reas realizaram obras para conter enchentes e proporcionar irrigao e abastecimento humano. Dominar
o uso da gua dos rios fez com que algumas civilizaes se utilizassem disso como forma de exercer poder
sobre outros povos e regies geogrficas.
Um exemplo de confito moderno pelo uso da gua vivenciado por israelenses e palestinos. Israel depende
das guas subterrneas que esto no territrio palestino ocupado e retira cerca de 30% da disponibilidade do
aqfero, comprometendo a capacidade de recarga desse reservatrio. De um lado, Israel controla o uso do aqfero
por parte dos palestinos e, do outro, os palestinos reclamam a gua que est em suas terras.
Fonte: DNAEE, 1985; IBGE, 1996, in: Ribeiro, Wagner
Costa (org.). Patrimnio Ambiental Brasileiro. So Paulo:
Edusp, 2003. p.201.
C
O
N
F
L
I
T
O
S
D
E
U
S
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 300
GUA
RIO RIBEIRA DE IGUAPE
RAUL SILVA TELLES DO VALLE*
O Rio Ribeira nasce no Estado do Paran, na regio
de Ponta Grossa, e, aps servir de fronteira com o Estado
de So Paulo por alguns quilmetros, adentra neste
ltimo para desaguar no Oceano Atlntico na altura do
municpio de Iguape, percorrendo aproximadamente
470 quilmetros da nascente foz.
Utilizado como via de acesso pelos primeiros
exploradores da regio, permitiu que ainda no incio
do sculo XVII fossem ocupadas as primeiras reas para
extrao de ouro do Pas, antes mesmo da descoberta
das jazidas em Minas Gerais. At hoje o Rio uma
importante via de comunicao entre as populaes
que vivem ao longo de seu curso, alm de ser de fun-
damental importncia para o equilbrio ambiental de
todo o Vale que concentra a maior rea remanescente
de Mata Atlntica no Pas e do complexo estuarino-
lagunar de Canania-Iguape-Paranagu, um dos
mais produtivos do mundo e declarado patrimnio da
humanidade pela Unesco em 1999.
Apesar de sua importncia sociambiental, o Rio
e a regio sofrem h dcadas uma sria ameaa: a de
sua interrupo por um conjunto de barragens para
produo de energia hidreltrica. Segundo os estudos
de inventrio hidreltrico j aprovados, est prevista a
construo de quatro hidreltricas no curso do Ribeira
de Iguape: Tijuco Alto, Itaca, Funil e Batatal. Se cons-
trudas as quatro barragens, sero inundadas no s
forestas em timo estado de conservao, muitas das
quais inseridas em unidades de conservao, mas tam-
bm uma quantidade ainda incerta de cavernas ali se
encontra uma das principais provncias espeleolgicas
do Pas (ver Cavernas, pg. 266) terras de centenas
de famlias que vivem da pequena agricultura e muitos
dos territrios quilombolas recentemente reconheci-
dos, alguns dos quais fcariam quase que totalmente
submersos. Mesmo reas que no seriam inundadas
sofreriam as conseqncias da mudana no regime
hdrico do Rio, notadamente o complexo estuarino
estabelecido na foz, o que colocaria em risco a pesca
*Advogado, coordenador do Programa de Poltica e Direito Socioambiental do ISA
rea que ser inundada, caso a hidreltrica de Tijuco Alto seja construda.
R
A
U
L
S
I
L
V
A
T
E
L
L
E
S
D
O
V
A
L
L
E
/
I
S
A
C AR TO P OS TAL AME A ADO
C
O
N
F
L
I
T
O
S
D
E
U
S
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 301
GUA
profssional e esportiva praticada na regio, bem como
toda a riqussima vida marinha que l existe.
Em funo de todos esses possveis impactos, h
uma forte resistncia local instalao das barragens,
liderada por organizaes representativas dos agri-
cultores familiares, quilombolas, pescadores e ONGs
ambientalistas. Por outro lado, h um forte apoio por
parte da classe poltica e econmica regional, que acre-
dita que as barragens podero trazer o to almejado
desenvolvimento regio, tida como a mais pobre do
Estado de So Paulo. Mas um dos maiores interessados
na construo das hidreltricas a Companhia Brasi-
leira de Alumnio (CBA), que detm a concesso para
explorar a maior de todas, Tijuco Alto.
Por ser uma das grandes produtoras de alumnio
do Pas, a CBA tambm uma das grandes consumi-
doras de energia eltrica. Por essa razo, a empresa
h anos se preocupa em como conseguir a energia
necessria para ampliar seus negcios. Para alcanar
a meta de produo de 470 mil toneladas de alumnio
em 2007 a CBA e a Votorantim Energia investem na
construo de pelo menos nove hidreltricas ao redor
do Pas, sem contar as dezoito que j possui. Tijuco Alto
seria mais uma delas e toda a energia gerada seria
destinada exclusivamente produo de alumnio
na planta industrial da CBA localizada na regio de
Sorocaba (SP).
O confito em torno da construo das barragens
(ver mapa) expe um dos principais dilemas socio-
ambientais hoje vivenciados pelo Pas: o da produo
de energia versus a conservao dos usos mltiplos dos
rios. O Ribeira o ltimo rio de mdio porte do Estado
de So Paulo que corre livre de sua nascente at a foz, e
apesar de j haver sofrido com a contaminao por me-
tais pesados, liberados pelas mineradoras e fertilizantes
usados nas plantaes de banana, e com o assoreamento
decorrente do desmatamento nas suas cabeceiras e em
alguns dos seus principais afuentes, ainda se encontra
em bom estado de conservao, diferentemente dos
outros rios de porte semelhante no Estado. Mas isso
est ameaado pelo interesse de uma empresa privada
em aumentar sua produo em grande parte voltada
exportao de um produto eletrointensivo, para o
que precisa privatizar um patrimnio pblico que o
rio, j que a hidreletricidade a forma mais barata de
gerao de energia, algo essencial para que o alumnio
seja competitivo nos mercados internacionais.
VEJA TAMBM Barragens (pg. 311); Eletricidade
(pg. 346).
BARRAGENS PROJETADAS PARA O RIO RIBEIRA DE IGUAPE (SP)
C
O
N
F
L
I
T
O
S
D
E
U
S
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 302
GUA
OS COMITS DE
BACIAS HIDROGRFICAS
Uma das instncias importantes do Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hdricos
(SINGREH) so os Comits de Bacia, criados para
gerenciar a gua das bacias hidrogrfcas de forma
descentralizada e integrada. Antes dessa instn-
cia, as informaes sobre as bacias hidrogrfcas
estavam espalhadas em rgos governamentais
de diversos estados, o que difcultava a construo
de polticas efetivas.
Cada bacia do Pas deve ter seu Comit - que
pode ser estadual ou federal (se o rio atravessa
mais de um estado) -, formado por colegiados com
representantes no s do governo, mas tambm da
sociedade civil, que assim tem a oportunidade de
participar ativamente na construo de polticas
sustentveis para o uso dos recursos hdricos. Hoje,
h 140 comits no Brasil, distribudos pelas bacias
hidrogrfcas. De todas elas, a do Paran que pos-
sui o maior nmero, por ser a regio com a maior
densidade populacional e urbanizao do Pas - e
onde h mais confitos pelo uso da gua.
uso mltiplo das guas das bacias hidrogrfcas - para a
navegao, a irrigao, a pesca e o abastecimento, alm da
gerao de energia - desencadearam confitos nas regies
onde as presses sobre a demanda so grandes. Em 1997,
frente a esses problemas, foi decretada a Lei das guas, que
SAIBA MAIS Rede das guas (www.rededas
aguas.org.br); De Olho nos Mananciais (www.
mananciais.org.br).
VEJA TAMBM Disponibilidade e Distribuio
(pg. 292); Saneamento Bsico (pg. 303); Hi-
drovias (pg. 314); Indstria (pg. 315); Irrigao
(pg. 317); Agricultura Sustentvel (pg. 414).
CONSULTOR: ALDO DA CUNHA REBOUAS
Prof. Emrito da USP, autor do livro O uso inteligente da gua e um dos organizadores e
coordenadores do livro guas Doces no Brasil: capital ecolgico, uso e conservao, ambos
publicados pela editora Escrituras
institui a Poltica Nacional de Recursos Hdricos (PNRH) e cria
o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hdricos
(SINGREH). Nessa nova leitura da importncia da gua, em
situaes de escassez e confitos de uso, o abastecimento
humano e a dessedentao animal tornam-se prioridades,
como havia sido estabelecido pela Constituio de 1988.
Alm disso, a lei prev a gesto dos usos da gua por bacias
hidrogrfcas e a gerao de recursos fnanceiros a serem
empregados prioritariamente na prpria bacia, por meio da
cobrana pelo uso da gua onde h confitos ou escassez (ver
Legislao Brasileira, pg. 482).
Cobrana da gua
A cobrana pelo uso da gua segue o princpio do usu-
rio (sociedade civil, por exemplo) e do poluidor-pagador. O
poluidor-pagador so os setores como o hidreltrico, indus-
trial, de saneamento e a agricultura irrigvel, que retiram
grandes quantidades de gua da bacia e depois a devolvem,
muitas vezes poluda. Eles devero pagar uma taxa de uso da
gua, que seria revertida para a recuperao e preservao
dos rios. O setor que devolve a gua limpa para a bacia
paga menos do que aquele que devolve a gua poluda,
por exemplo. No caso do usurio comum, esse custo seria
repassado pelas empresas de saneamento e abastecimento,
que j cobram pelos seus servios. Mas essa taxa adicional
seria divida entre milhes de pessoas, portanto, seria quase
imperceptvel. A primeira iniciativa desse tipo implantada
no Brasil, em um rio federal, foi na Bacia do Paraba do Sul,
que drena os estados de So Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais, seguida pela Bacia do Rio Piracicaba, na regio de
Campinas, em So Paulo.
SOCIOAMBIENTAL
UMA PALAVRA S.
S
A
N
E
A
M
E
N
T
O
B
S
I
C
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 303
GUA
SANEAMENTO BSICO
MARUSSIA WHATELY*
Apesar da importncia para sade e meio ambiente, o saneamento bsico no Brasil
est longe de ser adequado. Mais da metade da populao no conta, sequer, com redes
para coleta de esgotos e 80% dos resduos gerados so lanados diretamente nos rios,
sem nenhum tipo de tratamento
*Arquiteta, coordenadora do Programa Mananciais de So Paulo do ISA
O descaso e a ausncia de investimentos no setor de
saneamento em nosso Pas, em especial nas reas urbanas,
compromete a qualidade de vida da populao e do meio
ambiente. Enchentes, lixo, contaminao dos mananciais,
gua sem tratamento e doenas apresentam uma relao
estreita. Diarrias, dengue, febre tifide e malria, que
resultam em milhares de mortes anuais, especialmente de
crianas, so transmitidas por causa de gua contaminada
com esgotos humanos, dejetos animais e lixo.
At a dcada de 1960, o Pas no possua uma poltica
para o setor. As altas taxas de mortalidade infantil e o
agravamento da poluio nos principais centros urbanos
demonstravam a precariedade dos servios e a ausncia de
investimentos. Nos anos 1980, os investimentos no setor fo-
ram centralizados juntamente com o Estado brasileiro. O Plano
Nacional de Saneamento (Planasa) incentivou a concesso
de servios para as companhias estaduais e contribui para
diminuir a atuao dos municpios. Entre suas metas, estava
o atendimento de 90% da populao com servios adequados
de abastecimento de gua e 65% com esgotamento sanitrio,
e no inclua os servios de coleta de lixo.
A situao atual dos servios de saneamento no
Brasil mostra que as metas eram ambiciosas e que a
universalizao desses servios deve ser encarada como
prioritria para o desenvolvimento do Pas. A ausncia de
investimentos, em itens to fundamentais como os servios
de saneamento, tem impactos sobre a sade da populao
e o meio ambiente. Estima-se que 70% das internaes
na rede pblica de sade esto relacionadas com doenas
transmitidas pela gua.
A
N
A
C
A
R
O
L
I
N
A
F
E
R
N
A
N
D
E
S
/
F
O
L
H
A
P
R
E
S
S
"Lngua" de esgoto na praia do Pepino, cidade do Rio de Janeiro (2005).
S
A
N
E
A
M
E
N
T
O
B
S
I
C
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 304
GUA
DOMICLIOS ATENDIDOS POR REDES DE ABASTECIMENTO
DE GUA, ESGOTAMENTO SANITRIO E COLETA DE LIXO
Por unidades da Federao, em 2005*
Unidades da % de domiclios com % de domiclios com % de domiclios com
Federao rede de gua
(1)
rede coletora ou fossa
(2)
coleta de lixo
(3)
Brasil 82,3 69,6 85,8
Norte
Acre 48,0 44,3 70,7
Amap 65,4 58,4 89,5
Amazonas 65,5 55,1 74,7
Par 47,3 57,8 74,0
Rondnia 36,0 48,3 68,5
Roraima 85,2 75,0 80,5
Tocantins 76,9 23,7 69,6
Nordeste
Alagoas 64,1 30,5 71,8
Bahia 75,1 46,6 71,4
Cear 74,0 40,8 72,2
Maranho 61,3 49,5 59,6
Paraba 78,2 52,3 77,4
Pernambuco 75,1 40,6 78,6
Piau 67,2 53,3 51,1
Rio Grande do Norte 87,8 55,9 83,5
Sergipe 88,0 71,8 81,8
Sudeste
Esprito Santo 84,4 75,7 85,7
Minas Gerais 86,6 74,8 84,9
Rio de Janeiro 86,8 88,1 97,5
So Paulo 96,2 93,1 98,4
Sul
Paran 86,1 68,5 87,6
Rio Grande do Sul 84,6 80,7 87,6
Santa Catarina 79,1 82,6 89,1
Centro-oeste
Distrito Federal 91,0 94,3 98,2
Gois 77,0 36,6 89,1
Mato Grosso 66,5 44,0 72,9
Mato Grosso do Sul 82,0 15,7 87,6
* Fonte: IBGE. PNAD. 2005.
(1) Domiclios com rede geral de distribuio com canalizao interna ou no terreno onde se situa o domiclio.
(2) Domiclios com rede de coleta de esgotos ou fossa, independente do esgoto ser tratado ou despejado diretamente nos corpos dgua. A pesquisa no apresenta informaes separadas
por UF para rede de coleta e fossa.
(3) Domiclios com coleta de lixo, independente de o lixo ser destinado em aterro sanitrio ou lixo.
S
A
N
E
A
M
E
N
T
O
B
S
I
C
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 305
GUA
VOC SABIA?
M
A maior parte do esgoto produzido no Brasil no tratada. Para reverter a situao, o Pas precisaria investir
em torno de R$ 10 bilhes em saneamento, valor trs vezes maior do que investido hoje.
M
As redes gerais de esgoto esto disponveis para apenas 40% da populao brasileira e constituem a
forma de saneamento menos difundida no Pas.
M
As doenas associadas falta de saneamento bsico mataram no Brasil, em 1998, mais pessoas do que
a AIDS. O nmero de bitos foi superior ao de homicdios registrados no mesmo ano na RMSP, considerada
uma das mais violentas do Pas. Homicdio = 10.116 pessoas; diarria = 10.844 (Situao dos servios de
gua e esgoto no Brasil, Idec).
M
Grande parte da gua retirada das represas 40% em mdia - se perde no processo de tratamento e
no utilizada para abastecimento.
M
O volume dirio de gua distribuda por rede geral, em 2000, foi de 260 litros por habitante. Este volume,
no entanto, varia de acordo com a regio do Pas, sendo que no Sudeste chegou a 360 litros pessoa/dia,
enquanto no Nordeste fcou em 170 litros pessoa/dia.
M
Com a poluio de mananciais, novos produtos devem ser adicionados gua para torn-la potvel. Na
RMSP, processos avanados de tratamento j so utilizados e resultaram em duplicao do custo de tratamento
de gua nos ltimos cinco anos.
Em 2000, 60% da populao brasileira no tinha
acesso rede coletora de esgotos e apenas 20% do esgoto
gerado no Pas recebia algum tipo de tratamento. Nesse
mesmo ano, quase um quarto da populao no tinha
acesso rede de abastecimento de gua. Esse quadro foi
apresentado em 2004, no Atlas de Saneamento do IBGE,
que teve como base os dados da Pesquisa Nacional de
Saneamento Bsico (PNSB), divulgada em 2002, combi-
nado com informaes do Censo 2000 e de instituies do
governo e universidades.
O estudo do IBGE mostra que, em 2000, foram regis-
trados mais de 800 mil casos de seis doenas dengue,
malria, hepatite A, leptospirose, tifo e febre amarela
que esto diretamente ligadas m qualidade da gua,
s enchentes, falta de tratamento adequado do esgoto e
do lixo. Naquele ano, mais de 3 mil crianas com menos de
cinco anos morreram de diarria.
A avaliao da abrangncia dos servios de saneamento
nos municpios do Pas feita pelo IBGE considerou a exis-
tncia ou no de servios de saneamento nos municpios,
independentemente de sua extenso, efcincia e quanti-
dade de domiclios atendidos. O resultado que a maioria
O RECORTE DE
BACIAS HIDROGRFICAS
O Atlas de Saneamento do IBGE interpreta
dados a partir das bacias hidrogrficas, uni-
dades territoriais estratgicas de gesto am-
biental, conforme determina a Lei Federal dos
Recursos Hdricos (ver Legislao Brasileira,
pg. 482). Os resultados demonstram que a
maioria das bacias hidrogrficas tem como prin-
cipal fonte poluidora os esgotos, devido au-
sncia de tratamento. Algumas, como o caso
das Bacias Costeiras Sul e Sudeste, apresentam
maior incidncia de despejos industrias. A Bacia
do Paran, onde est a regio metropolitana
de So Paulo, sofre com a intensa densidade
populacional e tambm com tratamento que
dado gua que a populao recebe, alm da
gua que devolvida para os rios (ver Regies
Hidrogrficas Brasileiras, pg. 294).
S
A
N
E
A
M
E
N
T
O
B
S
I
C
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 306
GUA
dos municpios brasileiros, cerca de 97,7%, conta com rede
de abastecimento de gua e apenas metade deles possui
rede de esgoto.
Ainda segundo esta pesquisa, entre os 5.507 muni-
cpios do Pas, mais de 1,3 mil enfrentam problemas com
enchentes. A coleta de lixo amplamente difundida, porm
a grande maioria dos municpios (63,3%) deposita seus
resduos em lixes a cu aberto e sem nenhum tratamento.
Os aterros sanitrios esto presentes em apenas 13,8% dos
municpios brasileiros e apenas 8% deles afrmam ter coleta
seletiva (ver Lixo, pg. 398).
Outra fonte importante de informaes sobre sanea-
mento a Pesquisa Nacional por Amostra por Domiclios
PNAD 2005, produzida pelo IBGE, que apresenta dados
mais atualizados. Essa pesquisa mostra que, em 2005,
82,3% dos domiclios particulares permanentes do Pas
contavam com rede geral de gua, 85,8% contavam com co-
leta de lixo, 48,2% dispunham de rede de coleta de esgotos
e outros 21,4% com fossas spticas, que so consideradas
formas adequadas de esgotamento sanitrio.
Importante ressaltar que os dados apresentados
dizem respeito existncia ou no do servio. A pesquisa
contabiliza domiclios atendidos por fossa e rede de esgotos,
O QUE LEGAL
A partir dos princpios e obrigaes estabelecidos na Constituio de 1988 foi instituda em 1997 a Poltica
Nacional dos Recursos Hdricos e criado o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hdricos (SINGREH),
por meio da promulgao da Lei Federal n 9.433/97. O SINGREH possui um conjunto de instncias de deciso,
que so: Conselho Nacional dos Recursos Hdricos; Conselhos Estaduais de Recursos Hdricos; Comits de Bacias
Hidrogrfcas de Rios Federais e os Comits de Bacias Hidrogrfcas de Rios Estaduais; e instncias executivas
das decises dos colegiados regionais, as Agncias de gua de mbito federal e estadual.
Cinco instrumentos principais de gesto:
M
Os planos de recursos hdricos, divididos em: Plano Nacional, Planos Estaduais e de Bacias Hidrogrfcas;
M
Enquadramento dos corpos dgua em classes de acordo com os seus usos preponderantes;
M
Outorga pelo direito de uso da gua, que constitui um instrumento de regulao pblica de uso. Deve
ser compatvel como os planos e respectivos enquadramentos;
M
Cobrana pelo direito de uso de recursos hdricos, que viabiliza as aes previstas nos planos;
M
Sistema de informaes sobre recursos hdricos.
VEJA TAMBM Legislao Brasileira (pg. 482).
ZOOM
UM MILHO DE CISTERNAS:
GUA POTVEL PARA A POPULAO
DO SEMI-RIDO
Iniciado em julho de 2003, o programa Um
Milho de Cisternas: Formao e Mobilizao Social
para a Convivncia com o Semi-rido, da Articulao
no Semi-rido (ASA), tem como objetivo levar gua
potvel para 5 milhes de pessoas em toda regio
semi-rida do Brasil atravs da construo de cister-
nas. As cisternas so construdas nas casas e coletam
a gua da chuva, por meio de calhas instaladas
nos telhados. Com a cisterna, as famlias ganham
independncia e autonomia para garantir gua para
beber e cozinhar e com isso melhoram as condies
de sade e de vida da populao. At abril de 2007,
j haviam sido construdas 190.330 cisternas em mais
de mil municpios da regio.
SAIBA MAIS ASA Brasil (www.asabrasil.org.br).
S
A
N
E
A
M
E
N
T
O
B
S
I
C
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 307
GUA
Nova Poltica Nacional de Saneamento
Em dezembro de 2006, foi aprovada a Lei Federal
n
o
11.445, que estabelece a Poltica Nacional de Sanea-
mento. Essa nova legislao traz boas perspectivas para
resolver um dos mais srios problemas ambientais do
Brasil, que o saneamento precrio.
A lei dispe sobre servios, exigncias de planeja-
mento, aspectos tcnicos, econmicos e sociais, alm de
estabelecer formas de controle social sobre os servios
de saneamento. Entre os impactos previstos est o
aumento dos incentivos, tanto pblicos como privados,
para investimentos no setor.
Um dos grandes avanos da nova legislao que
ela promove a articulao entre o setor de saneamento
e de gesto de recursos hdricos, ao definir a bacia
hidrogrfica como unidade de planejamento para sa-
neamento bsico e indicar a necessidade de articulao
entre os planos de saneamento e planos da bacia onde
se localizam os sistemas de gua e esgotos. Alm disso,
a nova lei refora a necessidade de outorga e que o
lanamento de efluentes deve passar a observar o
enquadramento dos corpos dgua receptores. Esses
dois aspectos so importantes instrumentos da poltica
de recursos hdricos.
independentemente da destinao dos dejetos, ou seja, in-
clui os esgotos tratados e aqueles lanados sem tratamento
nos corpos dgua. O mesmo se d com os resduos slidos,
onde a pesquisa no faz distino entre o lixo destinado
corretamente em aterros sanitrios ou no.
Desigualdade dos servios
O Atlas do IBGE demonstra grande desigualdade
na distribuio dos servios nas cinco regies do Pas.
A regio Sudeste se destaca como a rea com a maior
cobertura de servios de saneamento, com destaque
para o alto percentual de domiclios que contam com
redes coletoras de esgoto (77,4% dos domiclios). Por
outro lado, as regies Nordeste e Norte so as que
apresentam os piores ndices. No Norte, pouco mais da
metade (54,6%) dos domiclios contam com rede de
abastecimento de gua e esgotamento sanitrio (52,7%)
considerado adequado (redes de coleta e fossas). No
Nordeste, mais da metade dos domiclios no conta com
formato adequado de esgotamento sanitrio, dos quais
15,4% dos domiclios no tm qualquer tipo de servio
de esgotos. Essas duas regies tambm apresentam as
menores porcentagens de coleta de lixo (73,7% no Norte
e 71,9% no Nordeste).
Buscando gua num aude, municpio de Caridade (CE), 2003.
J
A
R
B
A
S
O
L
I
V
E
I
R
A
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
S
A
N
E
A
M
E
N
T
O
B
S
I
C
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 308
GUA
ZOOM
OS MANANCIAIS DE SO PAULO
A Regio Metropolitana de So Paulo (RMSP) j apresenta srios problemas para garantir gua em quantidade
e qualidade adequada para seus 19 milhes de habitantes, onde a m gesto desse recurso resulta na destruio
de importantes fontes de gua, altas taxas de perda e destruio de seus mananciais pela expanso urbana.
A baixa disponibilidade hdrica da regio localizada prxima s cabeceiras do Rio Tiet foi acentuada ao
longo de sua histria em funo da poluio e da destruio de seus mananciais, entre eles os rios Tiet, Pinheiros,
Ipiranga, Anhangaba e Tamanduate.
Para dar conta do abastecimento atual
de sua populao, a RMSP importa
mais da metade da gua que consome
da Bacia do Rio Piracicaba, atravs do
Sistema Cantareira - que est a mais de
70 km do centro de So Paulo e conta
com seis represas interligadas por
tneis. O restante da gua produzida
pelos mananciais que ainda restam
na regio - em especial Billings, Gua-
rapiranga e Sistema Alto Tiet - e que
sofrem intenso processo de ocupao,
resultante da expanso da mancha
urbana dos municpios que fazem
parte da Grande So Paulo.
So oito sistemas produtores de
gua, que produzem cerca 65 mil litros
de gua por segundo (que totalizam
5,6 bilhes de litros de gua por
dia), uma quantidade sufciente para
encher 2.250 piscinas olmpicas por
dia. A produo est muito prxima
da disponibilidade hdrica dos ma-
nanciais existentes, que de 66 mil
litros por segundo. Essa pequena folga
coloca a regio em uma situao frgil,
onde um perodo de estiagem mais
prolongado pode resultar em racio-
namento de gua para grande parte
da populao. E, em pouco tempo, a
regio precisar de mais gua. Porm,
novas fontes de gua dependem de
SISTEMAS PRODUTORES DE GUA NA RMSP
S
A
N
E
A
M
E
N
T
O
B
S
I
C
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 309
GUA
construo de represas, que demandam reas para serem alagadas, tempo e recursos fnanceiros que so pouco
acessveis atualmente.
Apesar desse quadro, as reas de mananciais que so aquelas responsveis pela produo de gua e que
por sua importncia so protegidas por lei desde a dcada de 1970 so alvo da expanso da mancha urbana dos
municpios, caracterizada pelo deslocamento das populaes mais carentes para as reas perifricas.
A legislao previa a restrio da ocupao urbana nessas reas por meio da fxao de parmetros urba-
nsticos que induzissem ocupaes de baixa densidade populacional e a impossibilidade da expanso das redes
de infra-estrutura.
Passaram-se trs dcadas e o ordenamento previsto na legislao no foi implementado. Ao contrrio, a mancha
urbana ultrapassou os limites da rea de proteo. Tal expanso foi caracterizada especialmente pelo abandono
das reas centrais da cidade e o adensamento das reas perifricas, estimulado pela especulao imobiliria, a
criao de novos plos industriais e de servios e pela ausncia de programas habitacionais.
A perda da qualidade de gua nos mananciais resultado do uso e ocupao de suas bacias hidrogrfcas e j
pode ser sentida no bolso dos moradores da Grande So Paulo. Nos ltimos cinco anos, a quantidade de produtos
qumicos necessrios para transformar uma gua de m qualidade em potvel cresceu consideravelmente e resultou
em duplicao do custo de tratamento de gua nos sistemas Cantareira, Guarapiranga e Alto Tiet.
A sustentabilidade da RMSP est diretamente vinculada garantia e manuteno de fontes de gua para
abastecimento. Nesse sentido, fundamental a adoo de estratgias que visem sustentao da produo atual
de gua, incluindo proteo dos mananciais, ampliao das reas permeveis, a diminuio do desperdcio e perdas,
juntamente com a racionalizao do uso desse importante recurso.
Para reverter a grave situao em que se encontram os mananciais da RMSP necessrio:
M
Parar de expandir a mancha urbana na regio;
M
Implantar saneamento e garantir condies de vida adequada para a populao que j mora
em rea de mananciais;
M
Ampliar e proteger as reas cobertas com vegetao;
M
Valorizar os servios ambientais prestados pelos mananciais, entre eles a produo de gua para
abastecimento e o provimento de reas de lazer para as populaes das cidades.
Seminrio Guarapiranga 2006
A Guarapiranga um dos principais mananciais da Regio Metropolitana de So Paulo, drena uma rea total
de 63.911 hectares. Abastece 3,7 milhes de pessoas residentes na zona sudoeste da capital paulista. tambm o
mais ameaado entre todos os que abastecem a RMSP. O quadro preocupante. A populao que vive ao redor da
represa aumentou em quase 40% nos ltimos anos (1991 e 2000) e estimada em 1 milho de pessoas. Grande parte
dessa populao no conta com saneamento adequado e o esgoto a principal fonte de poluio da represa.
Em 2006, o ISA, em parceria com 17 organizaes governamentais e no-governamentais, promoveu o
Seminrio Guarapiranga, que contou com a participao de 160 especialistas. Deste trabalho resultou um con-
junto de 63 propostas de ao, com responsveis e metas, para reverter o quadro de degradao da represa. Essa
plataforma vem sendo acompanhada por organizaes da sociedade, que pretendem apresentar anualmente os
avanos e estimular a sociedade a continuar mobilizada para reverter o problema, atravs de manifestao cvica
chamada Abrao na Guarapiranga, que teve sua segunda edio em maio de 2007.
SAIBA MAIS De Olho nos Mananciais (www.mananciais.org.br).
S
A
N
E
A
M
E
N
T
O
B
S
I
C
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 310
GUA
Apesar dos avanos, a nova lei deixou de encarar
questes importantes. Entre elas, a titularidade dos
servios de saneamento nas regies metropolitanas,
onde os problemas de contaminao e de disponibilidade
da gua so cada vez mais graves e impactam boa parte
da populao do Pas. Nessas regies, as redes de gua e
esgoto de vrios municpios costumam ser interligadas
e operadas por empresas estaduais. A nova lei no
definiu de quem a titularidade destas redes, apesar
da Constituio Federal estabelecer esse direito para
os municpios.
Abastecimento: desafio
para grandes cidades
Atravs dos sculos, os diferentes usos da gua
pelo homem aumentaram excessivamente, resultando
em degradao ambiental e poluio. A deteriorao
das fontes de gua est relacionada com crescimento
e a diversificao de atividades agrcolas, aumento da
urbanizao e intensificao de atividades humanas
nas bacias hidrogrficas. O problema atual e futuro
de escassez de gua na maioria dos pases, com exceo
daquelas regies do Planeta em que h limitaes natu-
rais, est mais ligado qualidade do que quantidade
de gua disponvel. A gua existe, porm encontra-se
cada vez mais comprometida em funo do mau uso e
da gesto inadequada desse recurso.
Atualmente, metade da populao mundial est nas
cidades. So 3 bilhes de pessoas, das quais, estima-se,
um tero no possui acesso gua de boa qualidade. Nos
ltimos 60 anos, a populao mundial duplicou e o uso
da gua aumentou em sete vezes. At 2025, as previses
apontam para um aumento de 2 bilhes de pessoas
na populao mundial, grande parte concentrada nas
cidades, em especial naquelas localizadas nos chamados
pases em desenvolvimento. Esse cenrio aponta para um
quadro preocupante de acesso gua de boa qualidade
em boa parte das cidades.
No Brasil, as formas de utilizao e m gesto da gua,
em especial nas cidades, tm conseqncias graves sobre a
qualidade o que resulta em perda de disponibilidade desse
recurso em condies adequadas para o abastecimento
da populao (ver Disponibilidade e Distribuio,
SAIBA MAIS Margulis, Sergio et al. Brasil: A Ges-
to da qualidade da gua. Insero de temas am-
bientais na agenda do setor hdrico. Braslia: Banco
Mundial, nov. 2002; Rebouas, Aldo da C.; Tundisi,
Jos Galizia (Orgs.). guas doces no Brasil. So Pau-
lo: Escrituras Ed., 2002; IDEC. gua e esgoto em ms
condies. So Paulo: Idec, s.d.; Fundao Agncia
da Bacia Hidrogrfca do Alto Tiet. Plano Diretor de
Abastecimento de gua da Regio Metropolitana de
So Paulo. So Paulo: Sabesp, maro de 2004; Ca-
pobianco, Joo Paulo Ribeiro; Whately, Marussia.
Billings 2000: Ameaas e perspectivas para o maior
reservatrio de gua da Regio Metropolitana de
So Paulo. So Paulo: ISA., 2002; Atlas de Sane-
amento e IBGE. PNAD. 2005. (www.ibge.gov.br);
SNIS, Ministrio das cidades (www.snis.gov.br).
VEJA TAMBM Metas do Milnio (pg. 36).
pg. 292). Para ilustrar essa situao, vale citar o caso de
Manaus, s margens do Amazonas, o maior rio do Planeta
em volume de gua, onde um tero da populao no tem
acesso gua de boa qualidade e boa parte dos igaraps
vem sendo contaminada por esgotos.
Com o crescimento das cidades, intensifcam-se os pro-
blemas de ocupao de bacias hidrogrfcas e a destruio
dos recursos naturais, entre eles a gua. Algumas cidades do
mundo j acordaram para esse problema, como Nova York,
que durante a dcada de 1990 iniciou um amplo programa
de uso racional da gua e proteo das bacias hidrogrfcas
produtoras de gua, que se mostrou mais econmico do
que o investimento necessrio para ampliar e tratar gua
poluda. Entre as aes desenvolvidas naquela cidade, vale
destacar a substituio de todas as vlvulas de descarga, a
aquisio de terrenos em pores ambientalmente sensveis
das reas de mananciais e, fnalmente, acordos com os pro-
prietrios das reas de mananciais, que em troca da proteo
passaram a receber compensaes. So aes como essas
que devem ser incorporadas s polticas pblicas no Brasil
de forma integrada e planejada, para que no futuro nossos
rios possam correr limpos e garantir sade e qualidade de
vida para toda a populao.
B
A
R
R
A
G
E
N
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 311
GUA
BARRAGENS
JOS GALIZIA TUNDISI*
Produzidas h milhares de anos pelo homem, as barragens tm inmeros impactos,
positivos e negativos, para populaes e natureza
*Doutor em Oceanografa e livre docente em Ecologia (USP), limnlogo,
presidente honorrio e pesquisador do Instituto Internacional de Ecologia
VOC SABIA?
M
A maior barragem do mundo, a barragem de
Trs Gargantas, na China, provocou a relocao
de 1 milho de pessoas.
Barragens so sistemas artificiais para reserva de
gua, produzidos pelo homem h milhares de anos. Podem
localizar-se no leito principal de um rio, em um tributrio
de menor porte ou em uma determinada regio de bacia
hidrogrfca, geralmente uma depresso que reserva gua.
Podem ser feitas de terra, cimento ou outros materiais.
A partir da segunda metade do sculo XIX, seu volume e
dimenses foram aumentando em funo da utilizao
da gua para produo de energia mecnica e depois
para a produo de hidreletricidade. Os usos mltiplos das
barragens foram mudando: no incio eram utilizadas para
abastecimento de gua, produo de biomassa (pesca) e
recreao. Atualmente, as grandes barragens existentes so
utilizadas para mltiplos servios como: hidreletricidade,
navegao, recreao, turismo, irrigao, aquacultura, pesca
e abastecimento pblico.
As barragens de pequeno porte do fnal do sculo XIX
(at 30 milhes de m
3
) foram substitudas por grandes
sistemas artifciais (de 1 km
3
de volume at 20, 30 ou 50
km
3
). Esses sistemas so extremamente complexos, com
gradientes espaciais, verticais e horizontais. Algumas barra-
gens ocupam grandes reas (entre 1.000 a 2.000 km
2
, como
A Hidreltrica de Xing uma das 12 barragens construdas em cadeia no Rio So Francisco.
L
I
V
I
A
C
H
E
D
E
A
L
M
E
N
D
A
R
Y
B
A
R
R
A
G
E
N
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 312
GUA
Tucuru, no Rio Tocantins, e Serra da Mesa no mesmo rio).
Em todo o Planeta, h mais de 50.000 represas de grande
porte utilizadas para diversos fns econmicos.
No Brasil, outra peculiaridade a construo de bar-
ragens em cadeia em diversos rios, como o Tiet e o So
Francisco. A relocao de pessoas pela construo de barra-
gens um problema social e econmico de porte que afetou
populaes da Amrica do Sul, frica e Sudeste da sia.
O gerenciamento adequado de barragens uma das
prioridades essenciais na rea de conservao, preservao
e recuperao de ecossistemas. Implica em um conjunto
de instrumentos de gesto que vo desde tecnologias
apropriadas at a negociao com usurios das bacias
hidrogrfcas e das barragens.
Barragens produzem muitos impactos negativos, como
alteraes no ciclo hidrolgico regional, na paisagem terrestre
e na biodiversidade dos rios. Entretanto, sua construo tem
muitos impactos positivos, como a produo de energia, diver-
sifcao de usos mltiplos e estmulo economia regional.
Pequenas barragens no Nordeste so utilizadas
para abastecimento pblico e pesca ou aquacultura. So
chamadas de audes como origem do rabe ad sudd. No
semi-rido brasileiro, h mais de 10.000 barragens de
pequeno porte utilizadas para irrigao, abastecimento
pblico e pesca (ver Caatinga, pg. 107). A salinizao
ENTENDA O VOLUME DAS BARRAGENS
1 km
3
= 1.000 X 1.000 X 1.000 m = 1 bilho m
3
ou 1 trilho de litros
de barragens por excesso de evaporao um processo
altamente prejudicial aos usos da gua, especialmente para
abastecimento pblico.
A contaminao da gua das barragens pode dar-se
por despejos de resduos agrcolas ou domsticos, poluio
industrial (efuentes) ou poluio do ar. O controle dessa
contaminao depende de um gerenciamento adequado
das bacias hidrogrfcas.
A construo de novas barragens na Amaznia para a
explorao do imenso potencial hidreltrico dessa regio deve
ser preenchida de um estudo estratgico para avaliar que rios
devero ser impactados e que rios devero ser preservados.
SAIBA MAIS Straskraba, M.; Tundisi, J.G. Ge-
renciamento e qualidade da gua de represas.
So Carlos : Ilec/IIE, 2000. 258 p. (Diretrizes para
o gerenciamento de lagos, 9). Tundisi, J.G. gua
no sculo 21: enfrentando a escassez. So Carlos
: Rima/IIE, 2003. 247 p.; Tundisi, J. G., 2007. Ex-
plorao do potencial hidroeltrico da Amaznia.
Revista Estudos Avanados, 21(59). 2007.
VEJA TAMBM Matriz Energtica Brasileira
(pg. 344); Eletricidade (pg. 346).
Usina Hidreltrica de Tucuru (PA).
L
A
L
O
D
E
A
L
M
E
I
D
A
E
S
P
O
R
T
E
S
E
L
A
Z
E
R
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 313
GUA
ESPORTE E LAZER
GILDA COLLET BRUNA*
As guas doces so locais privilegiados para o lazer e o esporte, importantes como perodos
de descanso criativo que estimulam novas idias e invenes
O turismo nas nascentes, rios, lagos, cachoeiras,
cavernas, piscinas naturais e corredeiras um grande
atrativo no Brasil. Muitas vezes, porm, carregam rastros
de poluio de turistas, acumulando desde manchas de
leo de barcos at garrafas pets, embalagens de papel,
vidro, alumnio e esgoto de casas de veraneio. Por vezes se
situam em unidades de conservao e podem ter normas e
restries para sua utilizao e mesmo impor as condies
para visitao, pois o turismo precisa ser sustentvel para
no agravar a poluio nem destruir a natureza.
Atividades de lazer, esporte e recreao de um modo geral
e passeios junto s guas doces muitas vezes se estendem aos
parques e reas de fauna e fora protegidas das imediaes,
como em Bonito no Mato Grosso do Sul, onde as cavernas tam-
bm so atraes, alm das guas transparentes com peixes
coloridos. As praias fuviais do Rio Parnaba, em Teresina (PI),
a Pousada do Rio Quente, em Caldas Novas (GO), e Brotas (SP),
local procurado para o rafting, esporte em que os participantes
descem corredeiras em botes de borracha, destacam-se como
exemplos de lugares muito visitados.
Os guias para esses passeios geralmente so morado-
res das comunidades locais, assim, alm do contato com
rios, lagos e cachoeiras, o turista tem acesso a informaes e
histrias da populao e suas atividades. Em muitos desses
locais existem museus, laboratrios e centros que podem
fornecer dados sobre a qualidade das guas e as espcies
de fora e fauna daquele mundo aqutico e das matas e
reas naturais de suas redondezas.
Criadas para fornecer eletricidade ou para abasteci-
mento de gua, as represas tambm se tornaram locais
importantes para a prtica de esportes aquticos e lazer,
atividades que em vrios locais como a regio de manan-
ciais de So Paulo onde, apesar da legislao para sua
proteo, acabaram comprometidas pela poluio.
O potencial desse tipo de turismo ainda pode crescer
muito, mas no de maneira descuidada. No caso de Bonito,
por exemplo, foram adotadas medidas de restrio do nmero
de visitantes, a obrigatoriedade dos passeios serem realizados
SURF NA POROROCA
O atrativo turstico da pororoca, tpico na
regio Amaznica, fruto do fenmeno natural do
encontro das guas do mar e do rio, em correntes
contrrias, como se encontrasse um obstculo que
impedisse seu curso natural. Quando ultrapassam
esse obstculo, as guas correm rio adentro com
uma velocidade de 10 a 15 milhas por hora, su-
bindo de 3 a 6 metros de altura. O fenmeno virou
palco do chamado surf na pororoca, modalidade
esportiva nativa que vem atraindo surfstas de
todo o Pas para a regio, em buscas de ondas que
podem durar mais de uma hora.
VEJA TAMBM Turismo Sustentvel (pg. 469).
* Arquiteta e urbanista, foi diretora da FAU/USP e atualmente
Professora Coordenadora do Programa de Ps-Graduao em Arquitetura e Urbanismo
na Universidade Presbiteriana Mackenzie
ZOOM
com guias credenciados, controle do nmero de visitantes e
proibio de barcos a motor, para no poluir as guas. Mas se
por um lado essas iniciativas ajudam a preservar o local, por
outro tornam esse tipo de turismo mais oneroso e restritivo,
fazendo com que s seja acessvel queles com mais recursos
e capacidade de planejamento de longo prazo.
Rio Mearim, no Maranho, 2004.
L
A
L
O
D
E
A
L
M
E
I
D
A
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
H
I
D
R
O
V
I
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 314
GUA
HIDROVIAS
GIORGIO BRIGHETTI*
O menor consumo de combustveis e o menor custo da mo-de-obra
por tonelada transportada so as grandes vantagens do transporte fuvial
VOC SABIA?
M
Um comboio fluvial (embarcao para
transporte de carga em hidrovias) de 10.000
toneladas necessita de 12 homens em sua tri-
pulao. Se a mesma carga fosse deslocada por
transporte rodovirio, seriam necessrios 278
caminhes e seus respectivos motoristas.
SAIBA MAIS Coalizo Rios Vivos (www.rios
vivos.org.br).
VEJA TAMBM Pantanal (pg. 177); Confitos
de Uso (pg. 298); Barragens (pg. 311); Trans-
porte (336); A Hidrovia Araguaia-Tocantins e os
Xavante (pg. 489).
*Engenheiro e professor da Escola Politcnica da Universidade de So Paulo (USP)
As hidrovias tiveram diferente importncia ao longo
do tempo como forma de transporte de pessoas e de carga.
Hoje em dia, tm ocupado papel relevante nas diretrizes
de aumento da malha de transporte do Pas como uma
forma mais econmica e mais limpa de se conectar plos
produtores aos mercados e portos.
As grandes cargas agrcolas, como os gros, a madeira,
os combustveis e outros, so cargas de pequeno valor unit-
rio, cujo custo de transporte deve ser o menor possvel, sob
pena de se inviabilizar o deslocamento da produo, tanto
para consumo interno, como para exportao.
Quando so necessrias obras para melhorar as vias
navegveis, como a construo de eclusas para vencer des-
nveis, a imploso de diques rochosos naturais e a dragagem
nos leitos dos rios, essas intervenes podem causar grandes
impactos nos ecossistemas aquticos, se no forem exe-
cutadas de forma adequada para minimiz-los. Alm disso,
durante a navegao, preciso que as embarcaes estejam
em bom estado para prevenir acidentes com carga e vaza-
mentos de combustvel. A anlise do impacto ambiental de
uma hidrovia pode apresentar vrios nveis de complexidade
em funo da magnitude das intervenes necessrias. (ver
Licenciamento Ambiental, pg. 449)
Assim, num curso de gua natural que no necessita
de obras, a anlise dos impactos muito mais simples, se
restringindo defnio de normas para a regularizao do
trfego. J no caso da necessidade de obras, a avaliao
pode ser mais complexa, exigindo muitas vezes o estudo
de alternativas menos impactantes.
A hidrovia do Rio Paraguai (principal curso de gua do
Pantanal), por exemplo, j apresenta eroses nas margens
do rio e perda da mata ciliar, aceleradas pelo movimento
de embarcaes, no tanto por falta de possvel regula-
mentao, mas sim por falta de obedincia e fscalizao s
normas do trfego hidrovirio. Em alguns trechos sinuosos,
onde no foram realizadas as obras de melhoria previstas no
projeto da hidrovia, os comboios e barcas abrem caminho
pelo atrito com os barrancos.
Um dos impasses atuais que atravs de embargos e ava-
liaes dos impactos extremamente rigorosas, se inviabiliza um
meio de transporte que o mais econmico e o menos poluidor,
sem propor ou procurar, em conjunto, alternativas para minimi-
zar os impactos provocados pelas intervenes nos rios.
Alguma sugesto?
Mande mensagem para
almanaquebrasilsa@socioambiental.org
ou pelo correio:
ISA, Av. Higienpolis, 901,
01238-001, So Paulo, SP.
I
N
D
S
T
R
I
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 315
GUA
CONSUMO INDUSTRIAL
DA GUA
Produto m
3
/t de produto
Papel e celulose 33 a 216
Cerveja 4,5 a 12
Refrigerantes 1,8 a 2,5
Whisky (EUA) 2,6 a 76
lcool 1.000 a 12.000 l/t cana
Cimento Portland 0,55 a 1,9
Amido de milho 13 a 18/t de milho
Dados aproximados, pois aferir o consumo industrial de gua por diferentes segmentos
industriais ou por diferentes produtos tarefa extremamente difcil, j que pode variar
conforme a tecnologia ou procedimento operacional e localizao da indstria.
INDSTRIA
GIL ANDERI DA SILVA*
O setor industrial o principal responsvel pela poluio das guas, mas o nvel de
conscientizao e exigncias legais tem aumentado e provocado mudanas positivas
* Professor associado da Universidade de So Paulo, especialista em preveno poluio
da indstria * ganderis@usp.br
O setor industrial responde por cerca de 25% do consumo
de gua no mundo e se destaca por ser o principal responsvel
pela deteriorao da qualidade da gua. E esse consumo est
crescendo, particularmente nos pases em desenvolvimento,
por conta da fcil disponibilidade do recurso devida ao baixo
custo de sua obteno , falta de polticas governamentais
visando economia de gua e de maior
conscientizao do setor, j que hoje se dispe
de recursos tecnolgicos e operacionais para
racionalizar esse consumo.
A gua no encontrada na natureza
na sua forma pura. A qualidade e a quanti-
dade das impurezas presentes extrema-
mente variada em funo das caractersticas
regionais. Essa impurifcao natural vem
se alterando ou melhor, deteriorando
signifcativamente, em decorrncia dos
rejeitos gerados pelas inmeras atividades
humanas. Em razo da ocorrncia das
impurezas nas guas naturais, via de regra
as indstrias fazem um tratamento da gua
captada ou adquirida antes de seu uso
visando atingir as especifcaes estabelecidas.
Efuentes industriais
A maior parte dos efuentes (rejeitos no estado lquido)
industriais tem como veculo a gua. Desta forma, para se-
rem devolvidos ao ambiente, esses efuentes devem atender
aos padres determinados pelas autoridades encarregadas
do controle ambiental. Para tal, faz-se necessrio o seu tra-
tamento por meio de processos selecionados em funo da
composio do efuente e dos padres a serem atingidos.
Em geral, os mtodos se iniciam por processos fsicos,
que tm o objetivo de remover slidos de maior dimenso
e os lquidos imiscveis na gua (em geral leos e gorduras),
os quais podem ser segregados. A minimizao de outros
contaminantes feita por processos fsico-qumicos ou bio-
lgicos, em funo das caractersticas dos contaminantes.
A preocupao com a escassez dos recursos hdricos
faz com que cresa o interesse pelo reuso da gua. Esta
prtica consiste no uso de efuentes aquosos, com ou sem
tratamento, para fns aos quais eles sejam adequados.
importante salientar que a implantao da prtica do reuso
de gua na indstria requer um estudo caso a caso.
Tcnico da Sabesp observa amostras de gua em So Paulo (SP). Em cinco
anos, os custos de tratamento dobraram.
M
A
R
L
E
N
E
B
E
R
G
A
M
O
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
,
2
0
0
4
I
N
D
S
T
R
I
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 316
GUA
PARA QUE A INDSTRIA USA GUA
A gua o nico composto inorgnico encontrado na forma lquida na natureza e tambm o nico composto
qumico que ocorre, naturalmente, nos trs estados fsicos: slido, lquido e gasoso. ainda considerada solvente
universal, pelo fato de praticamente todas as substncias serem, em maior ou menor grau, solveis na gua. Dadas suas
caractersticas anmalas e sua abundncia na natureza, a gua pode ser usada industrialmente de diversas formas:
M
Matria-prima A gua fica incorporada ao produto final. Em alguns casos, entra no processo como um
reagente, ou seja, no produto final ela no tem mais a sua composio qumica original: H2O. Um exemplo
a obteno de hidrognio por eletrlise da gua. Em outros casos, a gua fica incorporada ao produto final
sem perder sua personalidade qumica original, como nas cervejas e refrigerantes.
M
Gerao de energia A gerao de energia eltrica com o uso da gua pode ser feita pelo aproveitamento
da converso do contedo da energia mecnica contida na gua: energia potencial convertida em cintica
e, esta, convertida em energia eltrica pelo acionamento de dispositivos adequados. o caso tpico das
usinas hidreltricas. Alm disso, pode haver a gerao de energia eltrica pela converso de energia trmica
obtida pela queima de combustveis (fsseis como carvo mineral, petrleo e gs natural ou biomassa como
bagao de cana), que aquece a gua gerando vapor de alta presso que, acionando turbinas, gera energia
eltrica (ver Eletricidade, pg. 346; Combustveis, pg. 348 ).
M
Meio de transmisso de calor A gua serve tanto como meio de fornecimento de calor (aquecimento)
quanto como meio de remoo de calor (resfriamento). Na indstria de revestimento de peas metlicas
galvanoplastia usa-se vapor dgua para o aquecimento dos banhos. Como meio de resfriamento, usa-
se, em geral, a gua no estado lquido, com temperatura menor do que o meio a ser resfriado. Um exemplo
a condensao do destilado nos alambiques de fabricao de cachaa.
M
Veculo A gua usada industrialmente tambm como veculo para o transporte (deslocamento) de diferentes
materiais. Um grande exemplo brasileiro o mineroduto (duto condutor de minrio) usado para o transporte de
concentrado fosftico (na forma de partculas slidas fnas) entre a mina de fosfato localizada em Tapira (MG) e o
complexo de fabricao de fertilizantes fosfatados localizado a cerca de 110 km, no municpio de Uberaba.
M
Lavagem Remoo de impurezas presentes em diferentes materiais. A lavagem por remoo fsica consiste
na remoo ou arraste de partculas slidas agregadas a outros materiais. Na lavagem por ao qumica, o material
colocado em contato com gua. A impureza ir se dissolver na gua e ser removida com esta.
M
Material auxiliar Preparo de solues e suspenses.
VEJA TAMBM Riscos e Acidentes Ambientais
(pg. 456); Responsabilidade por Danos Socio-
ambientais (pg. 488) .
A situao da indstria brasileira em relao ao uso da
gua bastante diversifcada. De maneira geral pode-se
dizer que a atitude das empresas que atuam no Brasil
compatvel com o grau de desenvolvimento industrial,
social e econmico do Pas. possvel identifcar esforos
na busca de melhoria do gerenciamento do uso de recursos
hdricos tanto setoriais quanto de empresas isoladas. No
entanto, resultados signifcativos s comearo a ser senti-
dos quando da execuo efetiva das disposies da lei que
instituiu a Poltica Nacional de Recursos e Hdricos alm
da Lei de Crimes Ambientais (ver Legislao Brasileira,
pgs. 482 e 486).
I
R
R
I
G
A
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 317
GUA
IRRIGAO
Assim como na maior parte dos pases do mundo, a irrigao
a atividade que mais consome gua no Brasil
Ao mesmo tempo em que a atividade que mais con-
some gua no Pas 56% do total - a irrigao tambm
a que mais desperdia. Da gua destinada a essa atividade,
apenas 40% efetivamente utilizada. O restante perdida
por razes como o uso em excesso, fora do perodo de
necessidade da planta e nos horrios de maior evaporao.
Alm disso, os mtodos de irrigao empregados em 93%
da agricultura brasileira so os menos efcientes do mundo,
como o espalhamento artifcial no qual a gua escorre em
sulcos e pode evaporar em at 60% ; o canho de asperso,
que pode desperdiar de 25% a 50% da gua empregada
e o piv central, com uma perda de mais de 50% (ver
Cerrado, pg. 132).
Os mtodos mais efcientes, como o gotejamento e
os sistemas de micro-asperso, so usados em apenas
4% da agricultura irrigada no Brasil. A micro-asperso,
por exemplo, difere da asperso convencional por ser de
pequeno porte e com um raio de atuao menor, portanto,
mais localizado; no joga gua nas folhas e nas copas das
plantas (o que gera muito desperdcio), como ocorre com o
canho de asperso. J o gotejamento o sistema pelo qual
a gua transportada gota-a-gota at a base da planta por
canos, sobre ou sob o solo, sendo absorvida pelas razes nas
quantidades adequadas.
A adoo de sistemas de irrigao de menor consumo e
de inovaes tecnolgicas podem ajudar a reduzir a perda de
gua nessa atividade. O gerenciamento dos recursos hdricos
e o estudo da viabilidade de determinadas culturas irrigadas
tambm podem ajudar. Por exemplo, a substituio de
culturas como a de arroz (que demanda grande quantidade
de gua) em reas secas como o Nordeste, por outras que
demandam menos esforo de irrigao, como a fruticultura.
Piv de irrigao em uma plantao de feijo, Goinia (GO), 1996.
C
A
R
L
O
S
M
A
R
A
U
S
K
A
S
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
I
R
R
I
G
A
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 318
GUA
Clculos do Banco do Nordeste mostram que, no Cear,
o arroz est avaliado em 1 centavo de dlar por cada mil
litros de gua consumidos, enquanto esses mesmos mil
litros, se utilizados para irrigar melo, poderiam render de
3 a 7 dlares. Alm disso, estudos indicam que, se a irrigao
fosse utilizada de forma racional, em torno de 20% da gua
para esse fm poderia ser economizada.
MENOS GUA,
MENOS ALIMENTOS
Quando se fala em escassez de gua, indireta-
mente se fala em escassez de alimentos. Isso se deve
ao fato de que a irrigao para a produo de alimen-
tos a atividade que mais gasta gua no mundo.
O crescimento populacional, que deve adicionar
mais 3 bilhes de pessoas no mundo at 2050,
aumentar tambm a demanda por alimentos e,
conseqentemente, por gua para irrigao. Se me-
didas para racionalizar o uso da gua nessa atividade
no forem implementadas, reservas importantes
como os lenis freticos e aqferos que tm
sido bastante explorados para esse fm podem
diminuir drasticamente.
VOC SABIA?
M
Cerca de 70% da gua utilizada em todo o
mundo destinada irrigao. Com uma eco-
nomia de apenas 20% dessa gua, seria possvel
abastecer toda a populao do Planeta.
M
Os aqferos esto se esgotando em diver-
sos pases, inclusive na China, ndia e Estados
Unidos. Esses pases so responsveis, conjunta-
mente, por metade da colheita mundial de gros
(ver Aqfero Guarani, pg. 297).
M
So necessrias mil toneladas de gua para
produzir apenas uma tonelada de gros.
M
Das calorias consumidas no mundo, 75% re-
pousam sobre quatro espcies: arroz, trigo, milho e
soja, produzidos principalmente em monoculturas,
altamente dependentes da irrigao.
M
Uma pesquisa mostra que o nmero de
pivs centrais no Distrito Federal saltou de 55
para 104 entre 1992 e 2002. A gua utilizada
por esses equipamentos aumentou cerca de
75% no perodo.
SAIBA MAIS Instituto Interamericano de Coo-
perao para Agricultura (IICA) (www.iica.org.
br/index_Publicacoes_publicacoesIICA.htm).
VEJA TAMBM Confitos de Uso (pg. 298);
Agricultura Sustentvel (pg. 414).
CONSULTOR: ALDO DA CUNHA REBOUAS
Prof. Emrito da USP, autor do livro O uso inteligente da gua e um dos organizadores e
coordenadores do livro guas Doces no Brasil: capital ecolgico, uso e conservao, ambos
publicados pela editora Escrituras
DE ARROZ PARA FRUTA
Antes da construo do aude Castanho, agricul-
tores dos vales do Jaguaribe e Banabui dependiam
da gua dos audes Ors e Banabui para manterem
suas terras sob irrigao. Mas, a sucesso de anos
muito secos fez o volume de gua desses reservatrios
cair drasticamente de 1999 a 2001, comprometendo a
capacidade de atendimento. A partir disso, uma parce-
ria entre a Companhia de Gesto dos Recursos Hdricos
do Estado do Cear (COGERH) e a ANA implementou
uma medida alternativa: foi proposto aos agricultores
que substitussem suas culturas de arroz pelo plantio
de frutas, cujo esforo de irrigao necessrio muito
menor. A iniciativa pretendia no s diminuir os
gastos de gua, mas tambm incentivar a cultura de
produtos com mais valor de mercado do que o arroz.
O projeto guas do Vale, como foi chamado, conseguiu
reduzir o consumo de gua, em alguns casos, de trs
litros por segundo para pouco mais de meio litro por
segundo, por hectare.
ZOOM
P
E
S
C
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 319
GUA
PESCA
ANGEL PEREZ*
Como o Brasil, que tem 8 mil km de costa e soberania sobre uma rea marinha atualmente
estimada em 8.511.996 km, produz to pouco em comparao com outros pases?
*Professor do Curso de Oceanografa da Universidade do Vale do Itaja (Univali), onde co-
ordena o Grupo de Estudos Pesqueiros do CTTMar; oceangrafo e doutor pela Dalhousie
University, Canad
A atuao da Secretaria Especial de Aqicultura e Pesca,
um rgo com status de ministrio criado pelo governo Lula,
colocou, nos ltimos quatro anos, a pesca brasileira no foco
das discusses ambientais do Pas. Iniciativas de fomento
da atividade envolvendo a disponibilizao de um total de
R$ 2,4 bilhes em programas como o Programa Nacional
de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PronafPesca)
e o Programa Nacional de Financiamento da Ampliao e
Modernizao da Frota Pesqueira Nacional (Profrota), entre
outros, apontaram para um objetivo inicial de ampliar
em 47% a produo de pesca e da aqicultura nacionais
at 2006. Hoje, pescadores e empresrios da pesca e do
pescado que comemoraram o fm da estagnao do setor
se perguntam por que os nveis almejados de aumento de
produo, ao menos at 2005, no haviam atingido sequer
os patamares de 1%. Enquanto questes poltico-adminis-
trativas associadas efetividade das iniciativas de fomento
pesca tm dominado esse debate, os cientistas no se
surpreendem com esses nmeros.
Segundo o Ibama, a produo de pescados no Brasil,
contextualizada em termos de capturas desembarcadas pela
pesca extrativa e aqicultura marinha e continental, atingiu
em 2005 um milho de toneladas. Cerca de metade dessa
produo sustentada pela pesca no mar, a qual inclui desde
a atividade extrativa realizada por comunidades artesanais
em reas litorneas, at a pesca industrializada, conduzida
por embarcaes de grande porte que operam nas guas
jurisdicionais e na Zona Econmica Exclusiva brasileira.
Embora tenha crescido modestamente entre 1999 e 2002,
essa produo estagnou-se desde ento em nveis muito
aqum das potencialidades estimadas na dcada de 1970
que giravam em torno das 1,5 milhes de toneladas anuais.
As opinies sobre a origem dessa realidade dividem-se entre
aquelas que questionam essas potencialidades e aquelas
que julgam que o Brasil pesca pouco e pesca mal.
Barco pesqueiro, praia de Mucuripe, Colnia de Pescadores Z-08, Fortaleza (CE), 2003.
J
A
R
B
A
S
O
L
I
V
E
I
R
A
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
P
E
S
C
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 320
GUA
A pesca interior (em gua doce), tambm cha-
mada de pesca continental, tem grandes implicaes
econmicas, sociais e culturais em quase todo o Pas,
embora sua participao na produo brasileira de
pescados seja de pouco mais de um quinto do total.
Essa atividade est ligada, principalmente, a colnias
de pescadores que pescam predominantemente de
forma artesanal, prximo aos cursos de gua doce
mais importantes e, conseqentemente, tambm os
mais afetados por outros usos (produo de energia
eltrica e irrigao, por exemplo). Em algumas regi-
es brasileiras, essa interveno mltipla nas bacias
hidrogrfcas (e a decorrente poluio e degradao
dos rios) tornou difcil a captura de peixes maiores,
com grande valor de mercado. Isso tem feito com que
a atividade se volte cada vez mais para a subsistncia
e para a pesca esportiva, j que os recursos pesqueiros
no conseguem mais sustentar a produo comercial
(ver Confitos de Uso, pg. 298).
Em 2003, cerca de 40 cientistas elaboraram a lista
vermelha de peixes do Ibama e foram indicadas 166
espcies em perigo. A maior parte, 136, so de gua
doce e o declnio de suas populaes est associado
principalmente poluio das guas, ao desmatamento
das matas ciliares e construo de usinas hidreltri-
cas. Dos 136 peixes considerados em perigo pela lista,
pelo menos 47 tiverem seu declnio associado s hidre-
ltricas, a pior forma de impacto sofrida pelos peixes de
gua doce, de acordo com a concluso dos cientistas. O
principal problema das barragens a alterao drstica
provocada no regime de cheias do rio, que passa a no
ter mais reas inundveis nas margens, justamente o
local onde os peixes se reproduzem. Das espcies mais
comuns de peixes de gua doce, alguns como o piau,
o lambari, o pacu e uma espcie de surubim esto na
relao dos ameaados. E outros, como o dourado,
o ja e o pintado, esto bem perto de entrarem na
lista, segundo os estudos (ver Fauna, pg. 243; e
Barragens, pg. 311).
A pesca em excesso e nas pocas proibidas, assim,
no so as nicas razes da ameaa a estes animais. No
entanto, na Amaznia, por exemplo, onde o pescado
muito importante para a subsistncia, a escassez de
peixes estava ligada principalmente pesca predatria,
o que levou as prprias comunidades locais a estabele-
cerem regras para a atividade se tornar sustentvel.
POLUIO PREJUDICA PESCA CONTINENTAL
Pesca de jaraqui em um lago do Baixo Rio Negro (AM).
A
L
E
C
K
R
S
E
Z
E
I
N
A
D
P
E
S
C
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 321
GUA
Mito da abundncia
O mito da abundncia um dos principais problemas
da pesca no Pas. Governantes, pescadores e a sociedade
em geral se perguntam como o Brasil, que tem 8 mil km
de costa e soberania sobre uma rea marinha atualmente
estimada em 8.511.996 km, produz to pouco em compa-
rao com outros pases, inclusive com menor rea martima
jurisdicional. Os cientistas respondem. As guas tropicais,
que predominam na maior parte da costa brasileira, embora
sejam ricas em biodiversidade, so mais pobres em nmero
de peixes, crustceos e moluscos do que as dos mares
temperados e polares, por causa da menor concentrao de
nutrientes essenciais sustentao das cadeias alimentares
marinhas. Quando comparada com regies infuenciadas
permanentemente pelo fenmeno da ressurgncia (ascen-
so superfcie de guas profundas e ricas em nutrientes),
como a costa do Peru, da Califrnia e da Nambia, a produo
brasileira torna-se ainda mais insignifcante. No mar, assim
como no ambiente terrestre, no o espao disponvel e
sim o conjunto das condies ambientais reinantes em
uma regio que determina sua produtividade biolgica e,
conseqentemente, sua produtividade pesqueira.
Mas nosso insucesso como potncia pesqueira no
decorre apenas de uma desvantagem natural. Atualmente,
constata-se que 80% das principais espcies explotadas
na costa brasileira esto em situao de sobrepesca, ou
seja, no conseguem repor naturalmente os indivduos
RECURSOS PESQUEIROS DO BRASIL
A pesca industrial do Brasil desenvolveu-se a partir da dcada de 1960 tendo como carro-chefe recursos
costeiros e de plataforma continental. Entre estes se destacam:
M
a piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) e o camaro-rosa (Farfantepenaeus spp.) na regio Norte;
M
as lagostas vermelha e verde (Panulirus spp.) e o pargo (Lutjanus purpureus) na costa Nordeste;
M
a sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis) e o camaro-rosa (Farfantepenaeus spp.) no Sudeste e
peixes de fundo incluindo a corvina (Micropogonias furnieri), a castanha (Umbrina canosai), a pescada-olhuda
(Cynoscion guatucupa) e a pescada-real (Macrodon ancylodon) no Sul do Brasil.
Durante cerca de trinta anos de explorao pesqueira, esses recursos sofreram redues de abundncia da
ordem de 50% a 90% em decorrncia, sobretudo, do excesso de capacidade das frotas pesqueiras atuantes nessas
regies. Uma exceo a esse fenmeno a pesca do bonito-listrado (Katswonus pelamis), uma espcie de atum,
que vem se mantendo estvel h vrios anos.
capturados pela pesca. Apesar da impresso de que se
tem pescado muito pouco no Brasil, a verdade que tem
se pescado muito mais do que se deveria. Historicamente,
essa tendncia tem levado diminuio da abundncia dos
recursos, o que tem impedido que a atividade pesqueira no
s seja mais produtiva, como tambm sustentada.
O controle do tamanho das frotas pesqueiras, dos
perodos e reas de pesca, dos tamanhos mnimos para
captura e dos mtodos de pesca tem sido a ferramenta
VOC SABIA?
M
Os oceanos ainda garantem milhes de to-
neladas de peixes, crustceos, algas e moluscos,
que alimentam a populao humana. Entre 70 e
75 milhes de toneladas de peixes so retiradas
dos mares, todos os anos, sendo 30 milhes para
consumo humano. Conforme um estudo, coor-
denado pelo bilogo e especialista em pesca,
Ransom Myers, e publicado na revista Nature
em maio de 2003, a indstria pesqueira j teria
acabado com 90% dos estoques dos grandes
peixes comerciais, de todos os mares, e pelo me-
nos 70% das espcies pescadas so consideradas
exauridas ou j entraram em colapso.
P
E
S
C
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 322
GUA
governamental para exercer o que os cientistas chamam
de manejo pesqueiro e que engloba o conjunto de aes
direcionadas ao uso sustentado dos recursos pesqueiros.
O insucesso desse processo, caracterizado a partir do
estado precrio das principais pescarias e recursos do Pas,
tem recado sobre prticas gananciosas e por vezes predat-
rias principalmente da pesca industrial, mas tambm sobre
as defcincias do governo brasileiro em formular, imple-
mentar e fscalizar medidas efcientes de manejo. Como
resultado, em todo o Pas, observam-se frotas pesqueiras
superdimensionadas, legalizadas ou no, cuja capacidade
de capturar peixes e outros organismos tende a exceder os
potenciais naturais de renovao. Economicamente invi-
veis, essas frotas tm hoje avanado sobre recursos novos,
anteriormente desvalorizados e muitas vezes desconhecidos
do ponto de vista biolgico. Ironicamente, esses recursos
so considerados no controlados pelo governo brasileiro
e sequer so alvo de aes de manejo.
Atualmente Ibama e SEAP/PR dividem a responsabi-
lidade da gesto pesqueira no Brasil, cabendo ao primeiro a
ao sobre os recursos sobrexplotados e segunda a ao
sobre os recursos ditos novos ou subexplotados. Em geral,
essa diviso tem sido avaliada como mais um elemento
complicador na naturalmente difcil tarefa de promover o de-
senvolvimento sustentado da atividade pesqueira nacional.
Alternativas
Ainda que as limitadas perspectivas biolgicas de
desenvolvimento pesqueiro tornem improvvel a sonhada
construo de uma potncia pesqueira mundial, isso no
signifca que o Brasil no possa abrigar uma atividade pes-
queira produtiva e sustentvel, capaz de gerar signifcativos
benefcios econmicos e sociais.
As alternativas nesse sentido apontam para trs
caminhos principais. O primeiro consiste na recuperao, a
mdio/longo prazos, daqueles outrora abundantes estoques
pesqueiros costeiros, como a sardinha-verdadeira e os ca-
mares costeiros, atravs de medidas austeras de reduo
na intensidade de pesca ou esforo pesqueiro.
O segundo caminho, mais imediato, tem favorecido
expanso das frotas para novas reas de pesca em ambientes
ocenicos e guas profundas, onde tem sido encontrados re-
cursos valiosos principalmente no mercado internacional. Por
exemplo, a pesca de atuns e espadartes em reas ocenicas
do Atlntico uma possibilidade real de expanso da pesca
brasileira. A captura dessas espcies, no entanto, regulada
internacionalmente pela International Comission for the
Conservation of the Atlantic Tuna (ICCAT), que no s defne o
quanto se pode pescar anualmente em todo o Atlntico, mas
tambm quanto cada pas-membro, incluindo o Brasil, tem
direito de pescar. A pesca a grandes profundidades, por outro
lado, composta por valiosos estoques pouco abundantes e
frgeis do ponto de vista biolgico, como o peixe-sapo (Lo-
phyus gastrophysus), caranguejos-de-profundidade (Chaceon
spp.) e camares-de-profundidade (pertencentes famlia
Aristeidae). Embora sustentem pescarias muito lucrativas,
esses recursos suportam apenas a atuao de frotas pequenas
e altamente controladas. A anchota (Engraulis enchoita),
uma espcie de manjuba muito abundante no sul do Brasil,
tem sido tambm apontada como um recurso pesqueiro
potencial nessa regio.
O terceiro caminho envolve a reduo do desperdcio
gerado pelas prticas pesqueiras tradicionais do Brasil.
Motivadas pelos hbitos alimentares dos consumidores de
pescado no Brasil e no mundo, indstrias de processamento
de pescado geram volumes substanciais de resduos em
grande parte aproveitveis para a alimentao humana
ou animal. Em Itaja e Navegantes, Santa Catarina, tem se
estimado que, anualmente, cerca de 30.000 toneladas, algo
em torno de 30% daquilo que se desembarca no porto, no
aproveitado e vira lixo.
SAIBA MAIS Dias Neto, Jos. Gesto e uso dos
recursos pesqueiros marinhos no Brasil. Braslia :
Ibama, 2003. 242 p.; Paiva, Melquades Pinto. Re-
cursos pesqueiros estuarinos e marinhos do Brasil:
avaliao do potencial sustentvel de recursos
vivos na zona econmica exclusiva. Fortaleza :
UFCE, 1997. 286 p.; Grupo de Estudos Pesqueiros -
CTTMar, da Univali (www.gep.cttmar.univali.br).
VEJA TAMBM Consumo e Extino Globaliza-
das: o caso do bacalhau (pg. 43); Pesca Esporti-
va (pg. 470).
TERRAS
O territrio brasileiro tem sido ocupado sem planejamento ou critrios para susten-
tabilidade desde os ciclos econmicos coloniais. Do incio da explorao do pau-brasil,
do ouro em Minas Gerais, do caf na Mata Atlntica, da borracha na Amaznia, at
o avano da fronteira agropecuria no Centro-Oeste, o Pas assiste degradao de
seus recursos causada pela ocupao desordenada. As polticas de desenvolvimento
raramente adotam instrumentos de ordenamento territorial, como o Zoneamento
Ecolgico-Econmico (ZEE). Durante anos na Amaznia, a derrubada da foresta foi
exigida como precondio para a regularizao da posse da terra e a obteno de
fnanciamentos. As atividades agropecurias acabaram por multiplicar o desmata-
mento e a degradao do solo. Consideradas estratgicas para o crescimento econ-
mico, as obras de infra-estrutura tm sido construdas em geral sem ser debatidas
democraticamente, sem estudos aprofundados e medidas de preveno aos seus
impactos socioambientais. O caso da rodovia BR-163 (Cuiab-Santarm), contado
neste captulo, um exemplo de como a mobilizao da sociedade pode levar a
iniciativas capazes de reverter esse quadro e contribuir para um modelo de gesto
territorial sustentvel.
Ordenamento Territorial, pg. 324
Fronteiras, pg. 327
Reforma Agrria, pg. 329
Solo, pg. 333
Transporte, pg. 336
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 323
O
R
D
E
N
A
M
E
N
T
O
T
E
R
R
I
T
O
R
I
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 324
TERRAS
ORDENAMENTO TERRITORIAL
ANDR LIMA*
A ocupao do territrio a qualquer custo estimulou a degradao dos recursos naturais
brasileiros. Ordenar essa ocupao uma meta distante no Pas
*Advogado e mestre em Poltica e Gesto Ambiental, pelo Centro de Desenvolvimento
Sustentvel (UnB), diretor de Articulao de Aes para Amaznia do MMA
O territrio brasileiro, desde a chegada dos pri-
meiros portugueses, h mais de cinco sculos, vem
sendo ocupado de maneira bastante desordenada, sem
seguir qualquer planejamento orientado por critrios de
sustentabilidade. Essa ocupao foi imposta pela din-
mica dos ciclos econmicos, incentivados pela metrpole
(Portugal), durante o Brasil colnia e, mais recentemente,
pela necessidade de exportao de produtos agrcolas,
minerrios e madeireiros.
A busca por ocupao do territrio a qualquer custo,
como forma de comprovao da apropriao privada da
terra, estimulou a degradao dos recursos naturais e
a expulso, quando no a morte, de centenas de povos
indgenas de seus territrios, desde as Capitanias He-
reditrias e sesmarias do Brasil Colnia. Entre os ciclos
econmicos que estimularam a ocupao do territrio
brasileiro, destacam-se: pau-brasil, no sculo XVI, cana-
de-acar, caf e ouro ao longo da Mata Atlntica, entre os
sculos XVII a XIX, explorao de borracha na Amaznia, a
partir do incio do sculo passado, estimulada pela forte
demanda pelo produto durante a 1 Guerra Mundial, che-
gando, aps a segunda metade do sculo XX, ao avano
da fronteira agropecuria, principalmente pecuria e soja,
no Centro-Oeste e na Amaznia, mais especificamente na
regio do Arco do Desmatamento, que cobre o sul do
Acre, Rondnia, norte de Mato Grosso, sul e leste do Par,
norte do Tocantins e sul do Maranho.
A implementao de rodovias como a Cuiab-San-
tarm, a Belm-Braslia, a Transamaznica, a Porto Ve-
lho-Rio Branco, durante a dcada de 1970, pelo governo
militar, e o estmulo dos bancos oficiais de crdito para
atividades agropecurias como os projetos da Superin-
tendncia de Desenvolvimento da Amaznia (Sudam),
sem quaisquer cautelas ambientais, causaram destruio
O
R
D
E
N
A
M
E
N
T
O
T
E
R
R
I
T
O
R
I
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 325
TERRAS
CATEGORIAS FUNDIRIAS NA AMAZNIA
JOS HEDER BENATTI*
*Advogado, Doutor em Cincia e Desenvolvimento Socioambiental,
professor de Direito na Universidade Federal do Par e presidente do
Instituto de Terras do Par * jbenatti@ufpa.br
Na Amaznia, alm da vasta riqueza e heteroge-
neidade em termos de fauna, fora, hidrografa, mi-
nerais, clima, encontra-se tambm uma diversidade
de etnias e grupos sociais (ndios, remanescentes de
quilombo, seringueiros, castanheiros, babaueiros,
roceiros, vazanteiros, vaqueiros, pescadores e
ribeirinhos) que so importantes segmentos de
camponeses que souberam us-la sem destru-la.
As vrias atividades desenvolvidas pelas populaes
regionais da Amaznia representam a base de sua
subsistncia, cujo refexo se faz presente em sua vida,
na cultura, na economia e no direito (ver Populaes
Tradicionais, pg. 223).
Assim, devido s diferentes formas de apropriao
e uso dos recursos naturais, foram sendo elaborados di-
versos mecanismos jurdicos para regularizar a situao
fundiria dos diversos grupos sociais, que precisam da
terra e dos recursos naturais (principalmente a foresta
e a gua) para sobreviver fsica e culturalmente. No
geral, as terras podem ser pblicas ou privadas. O fato
da terra ser pblica no quer dizer que o uso no possa
ser privado, ou seja, o domnio pblico (da Unio ou
dos Estados), contudo, a posse da terra e dos recursos
naturais pode ser das populaes tradicionais.
Uma outra categoria de terra importante e que
possui caractersticas prprias a terra indgena. A Lei
6.001, de 19 de dezembro de 1973, conhecida como
Estatuto do ndio, reconhece a posse permanente
das terras que so tradicionalmente ocupadas pelas
comunidades indgenas. Garantia que est presente
h dcadas nas Constituies brasileiras. Com a
promulgao da Constituio Federal, de 1988, fcou
garantida a posse s comunidades indgenas (ver
Terras Indgenas, pg. 262).
Alm da propriedade privada que pode ser
pequena, mdia ou grande atualmente temos
distintas formas de legitimao do apossamento das
populaes tradicionais. Podemos enumerar as reservas
extrativistas (Resex), as reservas de desenvolvimento
sustentvel (RDS), as propriedades quilombolas, os
projetos de assentamento agroextrativista (PAE), os
projetos de desenvolvimento sustentvel (PDS) e os
projetos de assentamentos forestais (PAF). Alm dessas
fguras jurdicas, as reas ocupadas pelas populaes
tradicionais em forestas nacional so asseguradas para
o seu uso (ver reas Protegidas, pg. 261).
VEJA TAMBM Desmatamento (pg. 276); Refor-
ma Agrria (pg. 329).
VOC SABIA?
M
A situao fundiria na Amaznia Legal
ainda muito confusa e indefnida, o que
favorece a grilagem de terra e a retirada
ilegal de madeira. Da rea total, 47% so
terras devolutas, o que representa 235
milhes de hectares, ou seja, so reas que
o governo no deu uma destinao social,
seja para reforma agrria ou para proteo
ambiental. Contudo, parte dessas terras
possui pessoas morando e outras desma-
tando ilegalmente a foresta.
SOCIOAMBIENTAL SE ESCREVE JUNTO
O
R
D
E
N
A
M
E
N
T
O
T
E
R
R
I
T
O
R
I
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 326
TERRAS
SAIBA MAIS Secretaria do Desenvolvimento
Sustentvel do Ministrio do Meio Ambiente,
promove e disponibiliza o Zoneamento Ecolgico
Econmico do Brasil e suas regies (http://www.
mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&i
dEstrutura=28&idMenu=706&idConteudo=14
58). Tambm disponibiliza dados nos fomatos di-
gitais, bases cartogrfcas no formato shapefle,
imagens de satlite e mapas interativos (http://
mapas.mma.gov.br/i3geo/aplicmap/geral.htm?
89dsl9p6n504sb03pvgvv9s203).
VEJA TAMBM Amaznia (pg. 83); Poltica
Florestal (pg. 274).
de ecossistemas, dizimao ou desagregao cultural
de inmeros povos indgenas, contaminao de recursos
hdricos, expulso de populaes extrativistas do campo
para as cidades. Muitas cidades cresceram rapidamente
sem a mnima infra-estrutura, saneamento, sade, reas
de lazer para atender populao urbana, que hoje
representa mais de 80% na populao amaznica (ver
Urbanizao, pg. 380).
Zoneamento Ecolgico-Econmico
O ordenamento territorial instrumento de inter-
veno do poder pblico para coordenar e organizar suas
aes entre as diferentes instncias (federal, estadual
e municipal) e polticas (incentivos agrcolas, projetos
de infra-estrutura viria e energtica, saneamento,
urbanizao, sade, educao, gerao de emprego,
conservao de biodiversidade, reconhecimento de direi-
tos territoriais indgenas, reforma agrria), para atingir
padres sustentveis de desenvolvimento social, econ-
mico e ambiental.
Um dos principais instrumentos para o ordenamento
territorial, debatido ao longo dos ltimos 15 anos, mas
ainda pouco implementado, o Zoneamento Ecolgico-
Econmico (ZEE), regulamentado pelo Decreto Federal
n 4.297/02. O objetivo prtico do ZEE , a partir da
discusso com a sociedade, mostrar as possibilidades e
alternativas de uso sustentvel dos recursos naturais e de
conservao em cada parte do territrio e servir de base
para o planejamento governamental.
O ZEE se traduz na prtica em um conjunto de diag-
nsticos, normas, mapas, diretrizes e recomendaes
que identificam as potencialidades e vulnerabilidades de
um determinado territrio, delimitando-o em zonas com
diferentes caractersticas socioeconmicas e ecolgicas.
Assim fazendo o poder pblico pode otimizar seus inves-
timentos de recursos e esforos no sentido de estimular
o desenvolvimento mais adequado de seu territrio
segundo os anseios de sua populao e as caractersticas
naturais de suas regies.
Os estados do Acre, Par e Rondnia j concluram
o seu ZEE e os demais estados da Amaznia esto traba-
lhando neste sentido. O ZEE tambm se aplica a outras
regies do Pas e vem sendo desenvolvido principalmente
na regio costeira e em algumas bacias hidrogrficas,
como a do Rio So Francisco.
VOC SABIA?
M
Dos quase 650 mil km
2
desmatados na
Amaznia brasileira at agosto de 2003 (rea
de quase trs vezes o Estado de So Paulo),
mais de 160 mil km
2
esto abandonados ou
sub-utilizados.
M
Entre 1970 e 2000, foram construdos na
Amaznia mais de 80 mil km de estradas.
M
Cerca de 75% dos desmatamentos na Ama-
znia localizam-se a menos de 25 km de alguma
estrada municipal, estadual ou federal e 85%
esto a menos de 50 km de alguma estrada.
WWW.SOCIOAMBIENTAL.ORG
F
R
O
N
T
E
I
R
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 327
TERRAS
FRONTEIRAS
MRCIO SANTILLI*
As fronteiras terrestres brasileiras esto defnidas atravs de tratados bilaterais com todos os pases
vizinhos: encontram-se demarcadas e so internacionalmente reconhecidas
*Filsofo, foi deputado federal e presidente da Funai;
coordenador da Campanha 'Y Ikatu Xingu, pelo ISA.
O Brasil tem fronteiras terrestres com nove pases
da Amrica do Sul: Argentina, Paraguai, Bolvia, Peru,
Colmbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Frana (Guiana
Francesa). Neste continente, apenas o Chile e o Equador no
fazem fronteira com o Brasil. A linha de fronteira brasileira,
com 16.886 km, a terceira maior do mundo, atrs somente
da Rssia e da China, e representa 38% do comprimento
total das fronteiras da Amrica Latina. Alm disso, passa
por 11 das 27 unidades da federao: Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paran, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso,
Rondnia, Acre, Amazonas, Roraima, Par e Amap, atra-
vessando mais de 500 municpios.
As fronteiras internacionais so objeto de disputas e de
confitos entre vrios pases, pois elas defnem os territrios
em que cada estado exerce a sua soberania. A Venezuela,
por exemplo, reivindica direitos de soberania sobre a maior
parte do territrio da Guiana, enquanto que a Bolvia espera
recuperar um dia uma sada para o mar, perdida na Guerra
do Pacfco. A ltima guerra de fronteira na Amrica do Sul
se deu entre o Peru e o Equador.
Por outro lado, as polticas de fronteira, implemen-
tadas de comum acordo entre pases vizinhos, podem
incentivar as relaes de amizade entre os povos e
facilitar a vida das comunidades que vivem em regies
fronteirias.
A implementao de obras de infra-estrutura, es-
pecialmente de transportes e comunicaes, tendem a
consolidar a integrao terrestre entre pases vizinhos. Os
processos de integrao regional, como o da Unio Euro-
pia, tendem a diluir a tenso nas fronteiras e a facilitar
o intercmbio entre pessoas e mercadorias dos pases
neles envolvidos. A criao do Mercosul, reunindo Brasil,
P
E
D
R
O
M
A
R
T
I
N
E
L
L
I
/
I
S
A
Posto de observao do exrcito em Iauaret, Rio Uaups (AM), na fronteira Brasil/Colmbia.
F
R
O
N
T
E
R
I
A
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 328
TERRAS
VEJA TAMBM Amrica Latina (pg. 48); Povos
Indgenas (pg. 226); reas Protegidas (pg. 261).
FAIXA DE FRONTEIRA
A Constituio brasileira defne a faixa de 150 quilmetros ao longo das fronteiras terrestres como rea
de interesse para a defesa nacional. As terras situadas nessa faixa, que no tenham sido objeto de destinao
especfca pelo poder pblico, se incluem entre os bens da Unio. Projetos de ocupao ou titulao de grandes
extenses de terra para estrangeiros, na faixa de fronteira, dependem de prvia autorizao do Conselho de Defesa
Nacional, rgo composto pelo Presidente da Repblica, alguns ministros de estado e os presidentes da Cmara
dos Deputados e do Senado Federal.
Dos mais de 1,4 milho de km
2
de extenso total da faixa de fronteira, 29,9% esto em terras indgenas e
11,3% em unidades de conservao ambiental. H casos em que essas reas legalmente protegidas so contguas
a outras similares situadas em pases vizinhos. reas habitadas por povos que foram artifcialmente separados por
essas fronteiras de estados nacionais. Faltam polticas integradas para a gesto dessas reas.
Porm, os pontos crticos da fronteira, em que costumam ocorrer com mais freqncia problemas ou prticas
criminosas, so aqueles mais urbanizados e onde h maiores contingentes populacionais, como o da fronteira
tri-nacional entre o Brasil, Paraguai e Argentina (Foz do Iguau, Cidade do Leste e Porto Iguau).
VOC SABIA?
M
A maior fronteira brasileira com a Bolvia,
com 3.423 km.
Argentina, Uruguai e Paraguai, tambm contribuiu para
reduzir tenses histricas com os pases vizinhos.
No h pendncias ou disputas envolvendo as fronteiras
nacionais, embora j tenham sido objeto de confitos no
passado, como na Guerra do Paraguai. O Brasil j chegou
a ocupar, durante curtos perodos histricos, o Uruguai e
a Guiana Francesa. O Estado do Acre s passou a integrar o
territrio nacional h pouco mais de cem anos, quando foi
comprado da Bolvia aps um perodo de confito.
No entanto, h preocupao dos governos em relao
a processos migratrios que levam contingentes signif-
cativos de pessoas de um determinado pas a viverem em
pases vizinhos, como o caso dos chamados brasiguaios
(brasileiros que vivem no Paraguai). Preocupa, principal-
mente, a prtica de crimes atravs das fronteiras, como
o contrabando e o trfco de drogas. Tambm h o risco
de que confitos polticos e militares de um pas possam
afetar o territrio e a populao de outro pas vizinho.
Ou, ainda, que a execuo de obras, ou a explorao de
recursos naturais em regies de fronteira possam provocar
danos em outros pases.
H, tambm, instncias diplomticas multilaterais
que podem constituir espaos de maior aproximao entre
vizinhos, como o Pacto Andino, composto pelos pases com
territrios ao longo da Cordilheira dos Andes, e o Tratado de
Cooperao Amaznica, integrado pelo Brasil e pelos demais
pases com territrios na bacia amaznica.
Alguma sugesto?
Mande mensagem para
almanaquebrasilsa@socioambiental.org
ou pelo correio:
ISA, Av. Higienpolis, 901,
01238-001, So Paulo, SP.
R
E
F
O
R
M
A
A
G
R
R
I
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 329
TERRAS
REFORMA AGRRIA
CARLOS FREDERICO MARS DE SOUZA FILHO*
A reforma agrria no sculo XXI ganha uma nova importncia com a questo ambiental
*Doutor em Direito do Estado, professor de Direito Agrrio e Socioambiental da PUC-PR
Todas as grandes transformaes por que passou a
humanidade refetiram ou foram conseqncia direta de
alteraes na forma como o homem se apropria, usa ou dis-
tribui a terra. Modernamente, a reforma agrria entendida
como uma mudana na estrutura da propriedade da terra.
Essa defnio simples acarreta uma complexa discusso,
que vai desde argir a legitimidade da propriedade indivi-
dual da terra at as formas de sua distribuio.
Pode-se conceber uma reforma agrria socialista, que
pretende abolir a propriedade individual da terra, tornan-
do-a coletiva; uma reforma agrria do bem-estar social,
que obriga aos proprietrios condutas em relao terra
no que diz respeito produo de alimentos e proteo da
natureza, entre outras coisas; e fnalmente uma reforma
agrria de mercado, que v na terra uma mercadoria e cria
mecanismos de fnanciamento para as pessoas individual-
mente adquirirem propriedade rural. Entre esses trs marcos
h nuances quase infnitas. Assim, uma poltica de reforma
agrria pode ter aspectos das trs concepes.
Porque gera ou altera direitos, a reforma agrria sempre
est descrita em lei. Portanto, do ponto de vista do Direito,
um conjunto de normas que estabelece o processo de
interveno do Estado na propriedade agrcola para alterar
a forma de uso e explorao da terra. Para a realizao da
reforma agrria no Estado moderno capitalista so neces-
srias duas condies jurdicas prvias: a existncia, na
ordem constitucional, da possibilidade do Estado intervir
na propriedade privada e a existncia de norma legal que
defna os instrumentos, meios e modos desta interveno
(ver Legislao Brasileira, pg. 481).
Acampamento do MST em Eldorado dos Carajs (PA), 2004.
L
A
L
O
D
E
A
L
M
E
I
D
A
R
E
F
O
R
M
A
A
G
R
R
I
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 330
TERRAS
ZOOM
O IP E OS ASSENTAMENTOS NO PONTAL
SUZANA M. PADUA*
Um projeto de conservao para um dos primatas mais ameaados do mundo, o mico-leo-preto (Leon-
topithecus chrysopygus), iniciado em 1984 no Pontal do Paranapanema em So Paulo, levou fundao do IP
Instituto de Pesquisas Ecolgicas, em 1992, cujo leque de abrangncia gradativamente ampliou-se para questes
sociais. A chegada macia do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ao Pontal, nos anos 1990,
transformou a regio, antes conhecida pela acentuada concentrao de terras nas mos de poucos, e levou o IP
a incluir alternativas sustentveis de desenvolvimento em assentamentos rurais.
O Pontal uma das mais pobres regies do Estado de So Paulo, com sua histria marcada pelos confitos
relacionados ocupao da terra e perda da cobertura forestal. Da Grande Reserva do Pontal, que deveria ter
seus quase 270 mil hectares protegidos, restaram apenas 48 mil ha em unidades de conservao, sendo destes
12 mil convertidos recentemente em uma rea protegida federal, por presso do prprio IP e outros grupos, com
apoio de representantes de diferentes segmentos sociais, inclusive assentados e lideranas do MST.
O IP sempre adotou abordagens participativas, compartilhando conhecimentos cientfcos da biologia
regional, preocupaes conservacionistas em relao aos remanescentes forestais e busca por alternativas de
desenvolvimento compatveis com a proteo ambiental. O respeito e a transparncia tm sido as bases da cons-
truo de uma convivncia harmnica e construtiva, favorecendo trabalhos cooperativos entre os diferentes grupos
sociais. So muitas as estratgias de integrao como cursos, ofcinas e fruns participativos, as eco-negociaes,
promovidos anualmente com o objetivo de trocar idias sobre problemas, potenciais e como se pode trabalhar
juntos para a transformao de realidades indesejadas. Nesse processo de fortalecimento comunitrio, todos
podem perceber a realidade do outro e criar meios de se trabalhar em prol da melhoria e da sustentabilidade
socioambiental local.
Com educao ambiental integrada ao extensionismo conservacionista, os resultados tm sido signifcativos,
at mesmo contribuindo para o esverdeamento da regio (o Pontal aumentou em 4% sua cobertura forestal nos
ltimos dez anos). Por meio de viveiros de rvores nativas, caf orgnico plantado sombra de rvores tambm
plantadas, buchas naturais e outros artesanatos que enfocam espcies da fauna local, as pessoas ampliam a
compreenso sobre a importncia da conservao para sua prpria melhoria social.
Essa melhoria pode ser medida pela elevao da renda das aproximadamente 450 famlias (das 6.000 que
vivem nos assentamentos na regio), que participam dos projetos da organizao. No Projeto Viveiros Comunitrios,
por exemplo, foram implantados trs viveiros escolas e 19 comunitrios, nos quais a renda familiar aumentou
em at 60% para algumas famlias. Mais de 8 mil rvores foram plantadas apenas nas propriedades dos prprios
viveiristas e 500.000 rvores plantadas anualmente na regio. Nos projetos Mulheres Artess e Ecobuchas, o
aumento de renda foi de cerca de 25%.
A experincia do IP no Pontal talvez seja emblemtica ao mostrar que possvel, mesmo em regio de tantos confitos,
integrar gente e natureza com ganhos para todos. Ainda h muito a ser feito, mas aps anos de trabalhos contnuos, os
resultados indicam que este tem sido um caminho promissor e que vale a pena continuar ousando.
*Presidente do Instituto de Pesquisas Ecolgicas (IP) e membro do Wildlife Trust Alliance.
R
E
F
O
R
M
A
A
G
R
R
I
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 331
TERRAS
Histrico
Durante todo o sculo XIX e boa parte do XX, o
direito de propriedade foi considerado absoluto, isso
, o proprietrio tinha o direito de usar ou no usar,
manter ou destruir o objeto de sua propriedade, inclu-
sive a terra. Sob este regime constitucional, a reforma
agrria era impossvel. Foi a Constituio do Mxico, em
1917, fruto da revoluo camponesa de 1910, que pela
primeira vez determinou que a propriedade da terra
estivesse subordinada aos interesses sociais. Depois dela,
a Constituio alem (1919), que inaugurou a Repblica
de Weimar, estipulou que a propriedade obriga. Isto ,
o proprietrio deve cumprir determinadas obrigaes
para com a sociedade, como produzir adequadamente,
garantir relaes de trabalho justas, entre outras coisas,
para que seja reconhecida sua propriedade.
A partir da, cada pas foi reescrevendo sua Cons-
tituio para permitir que o Estado estabelecesse
obrigaes aos proprietrios. O no cumprimento destas
obrigaes permite ao Estado intervir na propriedade
e fazer com que ela passe a ser usada de acordo com a
exigncia jurdica, em geral anulando a propriedade de
um e entregando-a a outros. Nisto consiste a reforma
agrria. No Brasil, a primeira constituio a possibilitar
a interveno na propriedade foi a de 1934. Depois dela
Prosa & Verso
Homenagem bandeira dos sem-terra
(Letra e msica de Pedro Tierra)
Com as mos
De plantar e colher
Com as mesmas mos
De romper as cercas do mundo
Te tecemos
Desafando os ventos
Sobre nossas cabeas
Te levantamos.
Bandeira da terra
Bandeira da luta,
Bandeira da vida
Bandeira da Liberdade!
Sinal da terra
Conquistada!
Sinal da luta
E da esperana!
Sinal de vida
Multiplicada!
Sinal de liberdade!
Aqui juramos:
No renascer sob tua sombra
Um mundo de opressores.
E quando a terra retornar
Aos flhos da terra,
Repousars sobre os ombros
Dos meninos livres
Que nos sucedero
MOVIMENTO DOS
TRABALHADORES RURAIS
SEM TERRA
A histria do MST remonta dcada de 1970
nos estados de Rio Grande do Sul e Paran. O MST
uma organizao de trabalhadores rurais que
tem como uma das principais aes a ocupao
de terras. H uma diferena entre ocupao e
invaso, invadir tomar uma coisa violentamente
de outrem, ocupar preencher um espao vazio.
O MST ocupa terras griladas, latifndios, terra
improdutiva, que no cumpre a funo social e
terras devolutas. Por isso o MST diz que no invade
terras, apenas as ocupa.
R
E
F
O
R
M
A
A
G
R
R
I
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 332
TERRAS
No Brasil, a reforma agrria uma antiga reivindica-
o popular do campo. Muitas lutas camponesas foram
travadas com enfrentamento direto, como Canudos,
em Pernambuco, e a Guerra do Contestado, no Paran e
Santa Catarina. A histria da luta pela terra no Brasil tem
sido sangrenta e permanente, no s com o extermnio
indgena, mas tambm com verdadeiras guerras cam-
ponesas para liquidar posseiros e outros ocupantes de
terras. Muitas organizaes foram criadas e perseguidas
ao longo do sculo XX, entre elas o Master e o Grupo
dos Onze, de Leonel Brizola; as Ligas Camponesas de
Francisco Julio; o PCB, de Manuel Jacinto, em Porecatu
(PR). Atualmente, o mais importante o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
Apesar da permanente luta pela terra e pela reforma
agrria, a primeira lei brasileira somente viria em 1964: o
Estatuto da Terra. Esta Lei estabelece que toda propriedade
rural deve ter uma funo social, isto , que favorea o bem-
estar dos trabalhadores e proprietrios, mantenha nveis
satisfatrios de produtividade, conserve os recursos naturais
e observe as disposies legais dos contratos de trabalho. A
terra que no estivesse cumprindo essa funo social seria
desapropriada para fns de reforma agrria. A Constituio
de 1988 reproduziu esse dispositivo, acrescentando ao
conceito de recursos naturais a proteo do meio ambiente.
Novas leis foram editadas.
A reforma agrria no sculo XXI ganha uma nova
importncia com a questo ambiental. De fato, esta
grande questo social do sculo XX, que tem sido o mais
importante instrumento do reordenamento da terra,
pode servir tambm para reordenar a terra a favor da
natureza e do ambiente equilibrado. Por isso os movi-
mentos sociais de reforma agrria j incorporaram em
seus discursos e prticas a defesa do meio ambiente.
NO CONFUNDA...
M
Latifndio O Estatuto da Terra chama de
latifndio as grandes extenses de terra e as
no produtivas, ainda que no muito extensas.
Os latifndios devem ser desapropriados para
servir reforma agrria.
M
Terras devolutas Terras que nunca ti-
veram dono particular. So propriedade dos
estados, os quais podem entreg-las para a
ocupao e explorao de particulares. H terras
devolutas federais, na faixa de fronteira.
M
Colonizao Quando uma terra ocupada
pela primeira vez no se chama reforma agrria,
mas colonizao.
M
Grilo de terra ou grilagem Se d o grilo
quando uma pessoa forja documentos ou, usan-
do capangas, expulsa posseiros e toma uma
gleba de terras. Em geral o grilo se d em terras
devolutas por algum que se diz proprietrio
com documentos falsos ou autorizaes ilcitas
do poder pblico. Em geral produz violncia no
campo e gera o latifndio.
SAIBA MAIS Morissawa, Mitsue. A histria da
luta pela terra e o MST. So Paulo: Editora Expres-
so Popular.
VEJA TAMBM Ordenamento Territorial (pg.
324); Agricultura Sustentvel (pg. 414); Desen-
volvimento Humano (pg. 435).
todas as outras (1937, 1946, 1967, 1969, 1988) a seguiram,
mas apenas a de 1988 tratou especifcamente da reforma
agrria, as outras trataram da propriedade em geral.
Quando a Constituio possibilita a interveno na
propriedade privada, mas no auto-suficiente (auto-
aplicvel, dizem os juristas) necessria a segunda
condio, uma lei que regulamente essa interveno,
criando instrumentos judiciais e condies restritivas
de direito. Algumas leis ficaram famosas na Amrica
Latina porque introduziram verdadeiras mudanas nas
estruturas sociais de seus pases, como a Lei da Reforma
Agrria da Bolvia, de 1953, at hoje um smbolo legisla-
tivo. Quase todos os pases da Amrica Latina escreveram
suas leis de reforma agrria na segunda metade do
sculo XX. Tem importncia e destaque a reforma agrria
promovida por Salvador Allende, no Chile, no incio da
dcada de 1970, de forte matriz socialista.
S
O
L
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 333
TERRAS
SOLO
O desmatamento, o uso insufciente ou excessivo de fertilizantes, a gua de irrigao
de baixa qualidade e a ausncia de prticas conservacionistas esto entre as principais
causas de degradao dos solos em todo o mundo
VOC SABIA?
M
Os solos so formados por partculas mine-
rais e orgnicas e organizam-se em camadas
horizontais com caractersticas prprias, sobre-
postas, denominadas horizontes. A seqncia
de horizontes e suas caractersticas defnem o
tipo de solo. A camada mais superfcial (hori-
zonte A) geralmente mais escura e mais frtil,
e contm a maior parte das razes das plantas.
A camada abaixo (horizonte B) apresenta
caractersticas determinadas pelos fatores de
formao do solo e que tm grande infuncia no
comportamento do solo no ciclo hidrolgico. Por
fm, sobre a rocha consolidada est o horizonte
C, que apresenta material pouco alterado, mais
semelhante prpria rocha que ao solo.
DESERTIFICAO E AREIZAO
Desertifcao um fenmeno no qual o solo perde suas propriedades e se torna-se incapaz de sustentar a
produo vegetal, resultante de variaes climticas e das atividades humanas (ver Acordos Internacionais,
pg. 479). Estudos mostram que os desertos tm crescido ao ritmo de duas Blgicas por ano, transformando as
reas afetadas em solos de baixo potencial de sustento para homens, animais e fxao da vegetao. No Brasil,
parte do solo do semi-rido (em torno de 10%) j est em processo de desertifcao. No Pampa, ocorre processo
similar, a areizao (transformao do solo em areais incapazes de sustentar cobertura vegetal), causada, entre
outros fatores, pelo manejo inadequado da agricultura intensiva e da pecuria, atividades que ocorrem em larga
escala na regio (ver Pampa Areizao, pg. 176).
O solo um recurso natural no renovvel, suporta toda
a cobertura vegetal (natural e cultivada) e tem importante
papel no ciclo hidrolgico, por absorver e armazenar a gua
das chuvas, alimentando aos poucos os aqferos e lenis
subterrneos e escoando o restante para rios e lagos. Com
variaes de profundidade de 0,5 metro (solos rasos) at
mais de 8 metros (solos profundos), os solos podem ser de
diferentes tipos, de acordo com o material que lhe deu ori-
gem e fatores como o clima e a posio no relevo. Cada tipo
de solo tem caractersticas prprias que sofrem infuncia
e, principalmente, interferem no ecossistema onde est
inserido, condicionando a fsionomia das reas naturais e
das ocupadas pelas atividades humanas.
O conceito de qualidade do solo envolve a capacidade
de cumprir suas funes em um determinado ambiente.
Alteraes na estrutura do solo interferem no fuxo de gua,
na infltrao e, conseqentemente, no escoamento super-
fcial e na eroso, infuindo sobre sua funo de regular o
fuxo de gua no ambiente. A perda ou falta de nutrientes
e matria orgnica (por eroso ou por manejo inadequado,
por exemplo) prejudicam a funo do solo como meio para
o desenvolvimento das plantas, decretando um menor valor
para sua qualidade.
De maneira geral, os solos das regies tropicais mi-
das, que tm a maior representao geogrfca no Brasil,
so solos que sofreram a ao prolongada e intensa dos
agentes do intemperismo (alta temperatura e chuvas
intensas), tornando-se profundos e com minerais bastante
S
O
L
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 334
TERRAS
TERRA PRETA ARQUEOLGICA:
UM SOLO BASTANTE ESPECIAL
GERALDO MOSIMANN DA SILVA*
As Terras Pretas Arqueolgicas (TPA) so um tipo
especial de terra, formado pelo acmulo de detritos
orgnicos em stios de moradia e cultivo agrcola de
indgenas pr-histricos. Nestes locais, tambm so
encontrados vestgios dos antigos habitantes, como
cacos de cermica, ossos e carvo. Cientistas estimam
que algumas terras pretas so muito antigas, datadas
entre 100 a 450 anos antes de Cristo. Manchas de TPA
so encontradas em concentraes e tamanhos vari-
veis em diversas regies da Amaznia. A rea de cada
mancha varia muito com o local, podendo apresentar
de um at cerca de 500 hectares, como na regio de
Santarm, no Par.
Sociedades indgenas contemporneas costumam
plantar seus cultivos mais exigentes em terras pretas
e, com a ocupao da Amaznia por no-ndios, estes
tambm as utilizam para produo voltada subsistn-
cia e ao mercado. Isto se deve ao fato das TPA apresen-
tarem caractersticas fsicas e qumicas distintas, mais
aptas para a agricultura do que a maioria dos outros
tipos de solos que as circundam.
Contudo, a maioria das reas de terras pretas foi
pouco estudada. Atualmente h grande interesse em
conhec-las melhor. Para isto, foi criado um grupo
internacional de pesquisa sobre Terras Pretas Arque-
olgicas, que busca caracterizar as terras pretas em
aspectos relativos sua origem e contexto arqueol-
gico, bem como quanto ao seu uso e manejo agrcola
e sua conservao.
Arquelogos buscam conhecer a ocupao pr-
histrica da Amaznia e a estrutura social e poltica
dos grupos humanos que a habitavam. Pesquisadores
ligados a atividades agrcolas e agroforestais esto es-
tudando os mecanismos pelos quais as TPA se formaram,
para avaliar a possibilidade de criar novas terras pretas.
Nesse sentido, h um esforo conjugado para preservar
o patrimnio histrico, aspectos culturais de povos in-
dgenas e promover formas de agricultura sustentvel.
VEJA TAMBM Amaznia Antropizada (pg. 102).
* Agrnomo, doutorando do Departamento de Geografa da Universidade da Flrida
Terra preta arqueolgica no Parque Indgena do Xingu, 2004.
S
I
M
O
N
E
D
E
A
T
H
A
Y
D
E
S
O
L
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 335
TERRAS
alterados em relao aos da rocha original. Por isso, a maior
parte desses solos so pobres em nutrientes e, ainda, tem
baixa capacidade de reteno de nutrientes, o que torna
importante a manuteno da matria orgnica e o manejo
qumico fundamentado em anlises e critrios apropriados,
para que possa sustentar a produo agrcola.
Nas regies semi-ridas, como no serto do Nordeste,
por outro lado, as rochas tm uma decomposio mais lenta
e, assim, os solos so, em geral, mais rasos, com a presena de
cascalhos. Para a produo agrcola, o principal problema des-
ses solos a falta de gua e, nas reas em que foi implantada
a irrigao, o manejo preciso da quantidade e qualidade da
gua a ser utilizada nas culturas. Na Amaznia e no Cerrado,
predominam solos profundos, cidos e pobres em nutrientes.
Existem, porm, reas com solos frteis (derivados de rochas
de origem mais ricas em nutrientes), solos rasos (nas reas de
relevo mais acidentado) e solos mal drenados. No Pantanal,
existem diferentes materiais de origem e tipos de solo, embora
todos refitam a condio de encharcamento peridico.
Nas regies Sul e Sudeste, existe grande variedade de
tipos de solos, por serem regies de clima de transio (entre
o tropical e o temperado, entre o semi-rido e o mido), pela
variao do material de origem e pela variao do relevo.
Os solos predominantes so os solos profundos, bastante
intemperizados, alguns com alta fertilidade natural. Nas
reas de relevo com mais declives, predominam solos
mais rasos e os maiores problemas para a agricultura so a
mecanizao e o controle da eroso. Ao sul do Rio Grande
MANEJO E CONSERVAO
A fnalidade da conservao do solo proteger o recurso natural solo, assegurando a manuteno de sua
qualidade. Entende-se por prticas conservacionistas aquelas medidas que visem conservar, restaurar ou melhorar
a qualidade do solo. A adequao da fertilidade e o controle da eroso esto entre as mais importantes prticas
para a conservao dos solos brasileiros. Atualmente, o sistema de plantio direto, que se expande por todas as
regies agrcolas do Pas, a tecnologia mais adequada para reduzir a eroso e manter matria orgnica e a fer-
tilidade do solo. Essa uma das tecnologias utilizadas desde 1984 pelo Programa de Desenvolvimento Rural do
Paran (Paranarural), do Governo do Estado do Paran, reconhecido pela FAO como um dos mais efcazes esforos
direcionados sustentabilidade e competitividade da agricultura em zonas tropicais e sub-tropicais.
SAIBA MAIS Plantio Direto (www.embrapa.br/plantiodireto).
do Sul, aparecem solos de pouca espessura, mas em relevo
plano, parte deles com problemas de falta de gua e outros
(prximos ao litoral) com constante encharcamento.
Degradao
A degradao pode ser definida como a reduo
da qualidade do solo ou reduo de sua produtividade,
devido a aes naturais ou intervenes humanas. Entre os
principais fatores ou causas da degradao do solo em todo
o mundo, segundo estudos elaborados pela FAO, esto o
desmatamento ou remoo da vegetao natural para fns
de agricultura, forestas comerciais, construo de estradas
e urbanizao; o superpastejo da vegetao; as atividades
agrcolas (uso insufciente ou excessivo de fertilizantes,
gua de irrigao de baixa qualidade, uso inapropriado de
mquinas agrcolas, ausncia de prticas conservacionistas),
a explorao intensiva da vegetao natural e as atividades
industriais que causam poluio do solo.
CONSULTORA: ISABELLA CLERICI dE MARIA
Engenheira agrnoma, doutora pela Universidade de So Paulo,
pesquisadora do Instituto Agronmico (IAC)
SAIBA MAIS Programa de Combate Desertif-
cao (www.iica.org.br/desertifcation).
VEJA TAMBM Caatinga (pg. 107); Desmata-
mento (pg. 276); Irrigao (pg. 317).
T
R
A
N
S
P
O
R
T
E
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 336
TERRAS
TRANSPORTE
ADRIANA RAMOS*
A crise climtica cobra novas solues de transporte para o Brasil
*Coordenadora da Iniciativa Amaznica do ISA
No Brasil, desde a dcada de 1950 o modelo de
transporte privilegiou a mobilidade da carga por meio
de rodovias. As polticas desenvolvidas priorizaram a
construo de estradas e o investimento na indstria
automobilstica, deixando em segundo plano outras alter-
nativas de transporte de cargas comuns em outros pases,
como as ferrovias. Segundo dados da Associao Nacional
do Transporte de Cargas (ANTC), cerca de 60% do total da
carga no Brasil transportada por rodovias. A produo de
veculos automotores responsvel por mais de 11% do PIB
nacional, segundo estudos da Finep.
Alm da contribuio da frota nacional estimada em
mais de 30 milhes de veculos se considerarmos as moto-
cicletas s emisses de gases do efeito estufa, a falta de
planejamento na implantao da malha rodoviria causou
impactos socioambientais signifcativos. Segundo dados do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 75% dos des-
matamentos na Amaznia ocorreram dentro de uma faixa de
100 km de largura ao longo das rodovias. Isso se deve ao fato
de que os impactos no se restringem rea do traado das
rodovias, mas ao aumento das queimadas ocasionadas pela
ocupao ao longo das estradas com atividades de pecuria
extensiva e agricultura de corte e queima.
A situao hoje de estradas mal conservadas e
frotas sucateadas. Dos quase 1,7 milho de quilmetros
de rodovias existentes no Brasil, somente 165 mil quil-
metros so pavimentados. Destes, mais de 70% esto em
condies de conservao defciente, ruim ou pssima,
segundo pesquisa rodoviria da Confederao Nacional
de Transportes (CNT) de 2004.
A boa notcia o aumento dos veculos com a tecnologia
fex, adaptados utilizao de lcool ou gasolina. Em 2006,
Trnsito na Rodovia Castelo Branco (SP).
E
D
U
A
R
D
O
K
N
A
P
P
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
T
R
A
N
S
P
O
R
T
E
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 337
TERRAS
ZOOM
CAOS AREO
O crescimento do setor areo representa um dos grandes desafos ambientais globais. Em 2000, os aeroportos
brasileiros registraram 30 milhes de passageiros em vos domsticos. Em 2006, 50 milhes e, em 2007, somente
at maio, j haviam sido contabilizados 40 milhes. A reduo dos preos das passagens um dos estmulos
para esse aumento. Por outro lado, a limitao dos equipamentos e sistemas de controle de trfego areo tem
acarretado constantes crises e causado prejuzos a diversos setores.
Cientistas afrmam que as emisses oriundas de combustveis da aviao, alm de maiores que as dos carros
segundo o Instituto Francs do Ambiente (IFEN), as emisses mdias de CO
2
de um avio so de 140 g por
quilometro e por passageiro, contra
100 g para o carro so mais per-
niciosas, pois emitidas em altitudes
mais sensveis da atmosfera. Alm
disso, enquanto outros modais de
transporte afetam o clima global
devido principalmente ao aque-
cimento causado pela emisso de
CO
2
, segundo o Painel Intergover-
namental sobre Mudana Climtica
(IPCC), o setor areo tambm altera
a composio qumica da atmosfera
e a aviao supersnica contribui
para fragilizar a camada de oznio.
Experincia recente desen-
vol vi da na Suci a oti mi za os
sistemas de controle de trfego de
modo a diminuir o tempo de espera para pouso dos avies, reduzindo em at 10% o consumo de combustvel,
ou aproximadamente 314 quilos de dixido de carbono emitidos por vo.
esse nmero ultrapassou 2,6 milhes e vem crescendo
mdia de 1,5 milho por ano. Alm disso, o Pas conta com
900 mil veculos movidos exclusivamente a lcool.
Matriz multi-modal
O estabelecimento de um sistema de transportes de
carga de longo alcance em um pas com as dimenses
do Brasil um desafo enorme. Cada modelo tem suas
vantagens e desvantagens. Por isso, a maior parte dos
especialistas defende que o Brasil busque uma matriz de
transportes multi-modal, que integre diferentes tipos de
vias de escoamento de produo, especialmente hidrovias
e ferrovias (ver Hidrovias, pg. 314).
Essa perspectiva est prevista nas prioridades do
Ministrio dos Transportes no Programa de Acelerao do
Crescimento (PAC). Alm de investir na recuperao de
estradas, esto previstas a recuperao e construo de
2.500 km de ferrovias, 12 portos martimos e 67 fuviais e
20 aeroportos.
Em todas as alternativas de transporte, preciso avaliar
com cuidado os potenciais impactos de modo a escolher
aquelas que assegurem maior sustentabilidade. No caso
Superlotao no aeroporto de Braslia, 2007.
A
L
A
N
M
A
R
Q
U
E
S
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
T
R
A
N
S
P
O
R
T
E
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 338
TERRAS
de rios no navegveis, por exemplo, preciso garantir que
intervenes, sejam de derrocamento (retirada de pedras),
feitas em sua maioria por exploses, ou de dragagem, no
interfram de modo irreversvel no curso de gua.
No caso das ferrovias, h os impactos diretos das obras
de construo, tais como terraplenagem, sistemas de dre-
nagem etc. A utilizao de dormentes de madeira tambm
uma preocupao, mas hoje j existem alternativas que
vo do concreto ao plstico.
BR-163: rumo sustentabilidade?
Para tentar contribuir na construo de um modelo
de gesto territorial sustentvel ao longo de rodovias na
Amaznia, diversas organizaes da sociedade civil se
mobilizaram na elaborao de propostas para a regio da
BR-163 (Cuiab-Santarm). O governo brasileiro, por sua
vez, instituiu um Grupo de Trabalho Interministerial e props
um Plano de Desenvolvimento Sustentvel para a Regio
de Infuncia da Rodovia BR-163. O Plano ainda no saiu
do papel, mas se for implementado como previsto, ser a
primeira vez que uma estrada vai ser asfaltada em plena
foresta amaznica com uma ao preventiva de governo
para minimizar seus impactos.
A estrada foi aberta em 1973 e representava, na
poca, uma oportunidade de integrao nacional e
expanso das atividades econmicas. Mas no houve um
planejamento consistente que assegurasse que a rodovia
cumprisse seu objetivo. Ao contrrio, desde ento a
regio foi alvo de um processo de ocupao econmica
baseado em migraes desordenadas, desmatamento e
explorao predatria dos recursos naturais. Sem o asfalto,
a estrada se torna intransitvel no perodo das chuvas
durante cinco meses do ano. A pavimentao da BR-163
reclamada pelas populaes que hoje vivem em sua rea
de infuncia e que dela necessitam para o escoamento
dos seus produtos e para a ateno s suas demandas de
assistncia bsica.
O Plano prev aes para combater os impactos nega-
tivos comuns em empreendimentos como esse, tais como
migrao desordenada, grilagem e ocupao irregular de
terras pblicas, desmatamento, aumento da criminalidade
e agravamento das condies sanitrias.
SAIBA MAIS Associao Nacional de Transpor-
tes Pblicos - ANTP (www.antp.org.br); Estradas
(www.estradas.com.br).
VEJA TAMBM Energia no Brasil e no Mundo
(pg. 340); Combustveis (pg. 348); O Brasil e a
Mudana Climtica (pg. 365); Desafo do Sculo
(pg. 373); Transporte Urbano (pg. 409) .
VOC SABIA?
M
A primeira ferrovia brasileira foi a Estrada de
Ferro Mau, inaugurada em 30 de abril de 1854.
M
A primeira rodovia asfaltada do Brasil foi
a Washington Lus, no Rio de Janeiro, inaugu-
rada em 1928.
Alguma sugesto, correo, atualizao?
A prxima edio do Almanaque vai fcar
ainda melhor com a sua colaborao.
Mande mensagem para almanaquebrasilsa@socioambiental.org
ou pelo correio: ISA, Av. Higienpolis, 901, 01238-001, So Paulo, SP.
RECURSOS
ENERGTICOS
E MINERAIS
Os recursos energticos so essenciais. Sua crescente escassez e seus impactos tm
alimentado polmicas sobre como obt-los. A maioria dos pases continua despre-
zando energias alternativas (elica, solar, biomassa etc) e alguns ambientalistas
comeam a admitir usinas nucleares, que trazem grandes riscos, mas no agravam
as mudanas climticas. O dilema optar por fontes menos impactantes (e novos
padres de consumo e produo) ou esgotar nossos recursos at o limite do confito
e da perda irreversvel de qualidade de vida.
Os minrios so tambm indispensveis ao homem. Eles fornecem energia, so a base
da construo das cidades, do transporte. Todas essas atividades utilizam metais,
combustveis fsseis, cimento etc. Porm, tais recursos so fnitos. Investimentos
na pesquisa de novas jazidas e em tecnologia intensifcam a explorao em todo o
mundo, diminuindo as reservas minerais. No Brasil, comeam a ser visadas as Terras
Indgenas, onde a atividade proibida. Garimpos atuam ainda clandestinamente
em unidades de conservao.
Energia no Brasil e no Mundo, pg. 340;
Matriz Energtica, pg. 344;
Eletricidade, pg. 346;
Combustveis, pg. 348;
Energia Nuclear, pg. 351
Minerao, pg. 352
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 339
E
N
E
R
G
I
A
N
O
B
R
A
S
I
L
E
N
O
M
U
N
D
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
RECURSOS ENERGTICOS E MINERAIS
340
ENERGIA NO BRASIL E NO MUNDO
ROBERTO KISHINAMI*
Em todo o mundo, a economia moderna depende da disponibilidade de muita energia para funcionar
e crescer. O desafo aumentar a efcincia com que a sociedade consome a energia disponvel
* Fsico, especialista em Planejamento Energtico e Meio Ambiente.
Tudo aquilo que chamamos energia eletricidade e os
combustveis slidos, lquidos e gasosos est to impregna-
do na nossa vida que quase impossvel imaginar o nosso co-
tidiano sem ela. Imagine acordar num dia em que essa energia
tenha desaparecido. Como ser um mundo sem eletricidade?
fcil imaginar estar beira de um rio com muito mato volta,
sem eletricidade. Podemos at fcar um bom tempo nesse
lugar sem precisarmos de geladeira, televiso, iluminao e
outras utilidades e confortos. Mas o mesmo ser possvel em
nossa casa? Nossa rua? Nossa cidade? No, defnitivamente
no. Uma casa, mesmo sem eletricidade, necessita ao menos
de uma vela, que tambm um combustvel. E a vida numa
casa sem nenhuma forma de energia fca limitada s horas
em que h luz do Sol. Alm disso, a falta de geladeira impede
que alimentos perecveis sejam armazenados para durarem
um pouco mais. Sem falar na televiso.
Mas bom ter em mente que no foi sempre assim.
No Brasil, nos ltimos quarenta anos, as coisas mudaram
bastante. Para dar uma idia dessas mudanas, vamos
apresentar o que aconteceu com o consumo de energia nas
residncias brasileiras de 1970 at 2005.
A Tabela 1 mostra na primeira linha de quanto era
a populao no ano inicial dessas quatro dcadas. Na segun-
da linha est o consumo total de energia nas residncias,
em uma unidade comum chamada tonelada equivalente
de petrleo (tep). Esse consumo total de energia inclui a
eletricidade, a lenha, o gs de botijo (Gs Liqefeito de
Petrleo ou GLP), o gs canalizado e o carvo vegetal.
A primeira observao a fazer que, de 1970 a 2005,
a populao brasileira praticamente duplicou de tamanho,
mas o consumo total de energia nas residncias permaneceu
praticamente o mesmo. Isso, por si s, um fato impressio-
nante, porque sabemos que, nesse mesmo perodo, o nmero
de equipamentos domsticos que consomem eletricidade
aumentou muito em todas as residncias brasileiras. Segundo
o IBGE, por exemplo, no ano de 2005, 91% das residncias
tinham pelo menos um televisor e 89% tinham geladeira. Essa
certamente no era a situao em 1970. Como foi possvel, en-
to, aumentar a quantidade de equipamentos consumidores
e diminuir o consumo total de energia?
CONSUMO FINAL DE ENERGIA NO SETOR RESIDENCIAL BRASILEIRO
Brasil Unidades 1970 1980 1990 2000 2005
Populao Residente (A) milho de 93.1 121.6 146.6 171.3 184.2
habitantes
Consumo Total mil tep 22.076 20.957 18.048 20.688 21.827
de Energia (B)
Consumo Energia mil tep 20.891 18.625 13.683 13.464 14.672
Coco (C)
Consumo de milho 8.365 23.263 48.666 83.613 83.193
Eletricidade (D) de KWh
(B)/(A) tep/hab 0,237 0,172 0,123 0,121 0,119
(C)/(A) tep/hab 0,224 0,153 0,093 0,079 0,080
(D)/(A) KWh/hab 90 191 332 488 452
Tabela 1
Fonte dos grfcos e tabelas: www.ipen.epe.gov.br; www.aneel.gov.br; www.ibge.gov.br.
E
N
E
R
G
I
A
N
O
B
R
A
S
I
L
E
N
O
M
U
N
D
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 341
RECURSOS ENERGTICOS E MINERAIS
Isso aconteceu porque, nas ltimas dcadas, gastamos
cada vez menos energia em casa para preparar os alimentos,
ao mesmo tempo em que aumentamos muito o consumo de
eletricidade. A coco de alimentos consome lenha, carvo
vegetal, GLP e gs canalizado. A lenha e o carvo vegetal so
usados com rendimento muito baixo: o fogo a lenha, por
exemplo, usa uma parte muito pequena da energia forne-
cida pela queima da lenha para o cozimento dos alimentos.
A maior parte vai para o aquecimento de todo o ambiente.
Por outro lado, hoje o rendimento dos foges a gs muito
melhor do que no incio da dcada de 1970.
O Grfco 1 mostra a evoluo do consumo de lenha,
GLP e eletricidade. importante notar que esses trs
energticos respondem por mais de 90% de toda energia
consumida nas residncias brasileiras. O Grfco 1 mostra,
por exemplo, como diminuiu o consumo de lenha. Em
2005, era praticamente um tero do consumo que havia
em 1970. Isso quer dizer que com o passar dos anos, as
casas brasileiras deixaram de consumir lenha e passaram
a consumir GLP, o que signifcou tambm usar foges mais
efcientes. Essa mudana foi paralela mudana da relao
entre populao rural e urbana no Brasil (ver Populao
Brasileira, pg. 216).
O ganho de rendimento na substituio da lenha por
GLP foi to grande nesse perodo, que mesmo consumindo
cinco vezes mais eletricidade por habitante nas residncias,
ainda assim o consumo total de energia por habitante caiu
praticamente metade de 1970 a 2005.
Consumo nos diferentes setores
da economia brasileira
Em todo mundo, a economia moderna depende da
disponibilidade de muita energia e em diferentes formas,
para funcionar e crescer. No Brasil, o consumo total de
energia pelas indstrias cresceu mais de quatro vezes de
1970 a 2005.
A Tabela 2 mostra que todas as formas de energia
tiveram seu consumo aumentado de 1970 a 2005, pelo setor
industrial. A eletricidade, em particular, teve um aumento
de quase dez vezes, a mesma proporo verifcada no setor
residencial.
Mas, em todo mundo, o consumo de energia deve ser
comparado com o aumento da produo de bens e servios,
de modo que se possa medir a efcincia com que a socieda-
de consome energia. Ao fazer esse tipo de anlise, preciso
ter em mente que o consumo de energia das residncias tem
uma fnalidade diferente da que ocorre nas indstrias, nos
estabelecimentos de comrcio e servios, no transporte ou
nos servios pblicos.
Nas residncias, o consumo de energia
est relacionado ao conforto, ao lazer,
comunicao e obteno de algum servio
de interesse pessoal. Nos demais setores da
economia, a energia sempre um insumo
que serve para produzir algo. E esse algo, por
sua vez, tem um valor monetrio.
A intensidade energtica, medida
em tep/mil dlares, d uma idia de quo
efciente a economia. A Tabela 3 mostra
a intensidade energtica em diferentes
setores da economia brasileira ao longo
do perodo de 1970 a 2005.
ENTENDA AS MEDIDAS
M
Tep (tonelada equivalente de petrleo)
representa a energia contida em uma tonela-
da de petrleto, igual a 11.630 KWh.
M
KWh (quilowatt-hora) media usual de
energia eltrica, equivale a 860 mil calorias,
ou a 3.600 Joules.
CONSUMO DE ENERGIA
NO SETOR RESIDENCIAL
tep/ano
Grfco 1
E
N
E
R
G
I
A
N
O
B
R
A
S
I
L
E
N
O
M
U
N
D
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
RECURSOS ENERGTICOS E MINERAIS
342
Formas de Energia 1970 1980 1990 2000 2005
01 Gs Natural e GLP 50 527 1,565 4,739 7,832
02 Carvo Mineral e Derivados 1,427 4,248 7,123 10,356 10,992
03 Lenha 4,124 3,493 5,388 5,344 5,633
04 Bagao de Cana 3,060 4,799 4,560 7,858 13,083
05 Outras Fontes Prim. Renovveis 142 738 1,494 3,000 4,249
06 leos e Outros Deriv. de Petr. 5,610 14,375 8,260 12,957 10,969
07 Eletricidade 1,679 5,865 9,657 12,614 15,082
08 Carvo Vegetal 1,101 3,362 5,430 4,337 5,657
09 Total 17,192 37,441 43,478 61,204 73,496
CONSUMO DE ENERGIA NO SETOR INDUSTRIAL BRASILEIRO (mil tep)
INTENSIDADE ENERGTICA
Consumo de Energia do Setor / PIB do Setor
Unidade: Tep/mil Us$ (*), Brasil
SETOR 1970 1980 1990 2000 2005
Todos os setores c/resid.
(1)
0.295 0.210 0.214 0.221 0.229
Todos os setores s/resid.
(1)
0.188 0.165 0.181 0.192 0.202
Servios 0.150 0.123 0.123 0.140 0.149
Comrcio e Outros 0.014 0.014 0.016 0.022 0.023
Transportes 2.079 1.430 1.587 2.506 3.294
Agropecurio 0.175 0.120 0.142 0.131 0.125
Indstria 0.235 0.213 0.243 0.278 0.288
Extrativa Mineral 0.164 0.319 0.421 0.892 0.618
Transformao 0.236 0.211 0.240 0.271 0.281
No Metlicos 0.850 0.631 0.666 0.977 0.803
Metalurgia 0.539 0.642 1.073 1.204 0.963
Qumica 0.206 0.242 0.229 0.282 0.201
Alimentos e Bebidas 0.645 0.508 0.485 0.538 0.651
Txtil 0.130 0.113 0.148 0.321 0.402
Papel e Celulose 0.406 0.598 0.576 0.583 0.612
Outras 0.043 0.044 0.036 0.040 0.042
Energtico 0.288 0.441 0.511 0.301 0.280
(*) Dlar constante de 2005.
(1 )
Calculado sobre o PIB total
Uma primeira observao fornecida pela Tabela 3 que
a intensidade energtica da sociedade brasileira diminuiu, ou
seja, se produziu mais bens e servios com menos energia.
Mas isso apenas quando se considera o setor residencial
junto aos demais setores da economia. Em todos os setores
da indstria, do comrcio e dos servios h uma tendncia
de aumento do consumo de energia para a produo dos
mesmos valores monetrios de bens e servios.
Essa perda de efcincia pode-se dar tanto pelo aumen-
to no consumo de energia para a produo dos mesmos
bens e servios (situao menos freqente) como pela
diminuio do valor monetrio (preo) dos bens e servios
produzidos, que a situao mais freqente. Isso pode ser
exemplificado pelo setor
de Papel e Celulose, onde o
preo mdio da celulose no
mercado internacional caiu
de 800 dlares por tonelada
para 400 dlares por tone-
lada, defacionando o dlar
no perodo. Ou seja, o preo
mdio caiu de um fator dois.
A intensidade energtica
do setor no caiu de um fator
dois ( metade) porque houve
um aumento de eficincia
no uso da energia dentro da
indstria com o desenvolvi-
mento de novas tecnologias
e tcnicas produtivas. Apesar
desse ganho tecnolgico,
ganha-se menos por tonelada
de celulose produzida com o
Tabela 2
Tabela 3
E
N
E
R
G
I
A
N
O
B
R
A
S
I
L
E
N
O
M
U
N
D
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 343
RECURSOS ENERGTICOS E MINERAIS
CONSUMO DE ELETRICIDADE
NO BRASIL
VEJA TAMBM Matriz Energtica Brasileira
(pg. 344); Eletricidade (pg. 346), Combustveis
(pg. 348); Energia Nuclear (pg. 351); O Brasil e
a Mudana Climtica (pg. 365), Desafo do S-
culo (pg. 373).
mesmo montante de energia que, por suas prprias razes,
custa mais para ser produzida hoje do que em 1970.
As Tabelas 1 e 2 mostram que o consumo de eletrici-
dade tanto nas residncias como nas indstrias brasileiras
cresceu dez vezes, entre os anos de 1970 e 2005. Isso signifca
uma taxa mdia de crescimento no consumo de eletricidade
de 2,9% ao ano para esse perodo de 35 anos. Ser que essa
taxa ainda se mantm? Na verdade sim, e at um pouco
maior se considerados os perodos mais recentes. O Grfco
2 mostra como cresceu o consumo total de eletricidade no
Brasil, de 1975 a 2005, em bilhes de kWh por ano.
No grfco, visvel a reduo do consumo de eletricida-
de ocorrido em funo do racionamento de 2001, para o qual
contriburam todos os setores de consumo. Esse fenmeno
continua sem uma explicao satisfatria, embora ningum
discorde dele enquanto fato.
Como se pode ver pelo grfco, a taxa de crescimento
do consumo ligeiramente mais alta nos ltimos cinco
anos, alcanando uma taxa da ordem de 4% a 5% ao ano.
Isso signifca, na prtica, que a capacidade de produo de
eletricidade precisa ser aumentada, todos os anos, de cerca de
3 a 4 milhes de kW. Isso levou a um aumento da capacidade
hidrulica, trmica e nuclear instalada de 1974 a 2005.
A capacidade instalada de gerao de eletricidade tem
aumentado numa mdia de 3 a 4 milhes de kW todos os
anos. Houve, em primeiro lugar, o crescimento das termoe-
ltricas a gs natural e carvo mineral nos ltimos cinco
anos, junto a um crescimento muito baixo da eletricidade
de origem nuclear.
Desigualdade do consumo
A Agncia Internacional de Energia contabilizou, em
2004, um consumo total de energia de 11,2 bilhes de
toneladas equivalentes de petrleo (tep). A populao
mundial em 2004 era de 6,4 bilhes de pessoas, o que re-
sulta num consumo mdio anual de energia de 1,75 tep por
habitante. Para ver se muito ou pouco, podemos comparar
esse nmero mdio com o de outros pases.
O consumo norte-americano de energia e de eletrici-
dade so to grandes, por exemplo, que distorcem a mdia
mundial. O Brasil, por sua vez, est muito perto da mdia
mundial de consumo de eletricidade por habitante, en-
quanto o consumo total de energia por habitante, no Brasil,
cerca de 30% menor que a mdia mundial. Isso, quando
se considera o mundo sem os Estados Unidos. Nos Estados
Unidos, por outro lado, o consumo mdio de energia total
por habitante 5,3 vezes maior e o consumo de eletricidade
por habitante 6,7 vezes maior que no resto do mundo.
Esses consumos exagerados de energia em geral, e
eletricidade em particular, nos Estados Unidos fazem com
que esse pas seja responsvel por um quarto das emisses
de gases de efeito estufa do
mundo. A mesma posio ocupa
hoje a China, mas o consumo
per capita de eletricidade e de
energia na China so menores
que no Brasil (ver Mudana
Climtica Global, pg. 358).
O Grfco 2 mostra claramente
que o consumo de eletricidade no
Brasil cresce a uma taxa de 4% a
5% ao ano, mesmo nos anos em
que o crescimento da produo de
bens e servios medido pelo PIB
no dos mais elevados.
Grfco 2
M
A
T
R
I
Z
E
N
E
R
G
T
I
C
A
B
R
A
S
I
L
E
I
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 344
RECURSOS ENERGTICOS E MINERAIS
MATRIZ ENERGTICA BRASILEIRA
ROBERTO KISHINAMI*
Mais de metade da energia ofertada no Brasil vem de fontes no-renovveis
(petrleo e derivados, gs natural, carvo mineral e derivados, e urnio e derivados),
que responderam por 56% da oferta interna de energia em 2006
* Fsico, especialista em Planejamento Energtico e Meio Ambiente
Existe uma idia bastante disseminada de que a
matriz energtica brasileira predominantemente limpa,
por conta da forte presena das hidreltricas na produo
de eletricidade. No entanto, mais de metade da energia
ofertada no Brasil vem de fontes no-renovveis (petrleo e
derivados, gs natural, carvo mineral e derivados, e urnio
e derivados), que responderam por 56% da oferta interna de
energia em 2006 (Balano Energtico Nacional, Resultados
Preliminares, ano base 2006). A hidreletricidade respondeu
por 15% da oferta interna de energia naquele ano.
As demais fontes de energia consideradas renovveis
lenha e carvo vegetal, lcool e bagao de cana, outras
fontes responderam por 29% da oferta de energia naquele
ano. Dentre essas fontes renovveis, a participao da lenha e
do carvo vegetal (13%) e do lcool e do bagao de cana (14%)
so muito parecidos com o da hidreletricidade (15%).
Diversifcao da matriz
Enquanto os investimentos em energias limpas e
renovveis, como solar e elica, ainda so incipientes no
Pas, o governo do presidente Lula decidiu voltar a investir
em energia nuclear, com a construo da usina Angra 3. O
equvoco dessa deciso pode ser resumido em dois fatos
NO CONFUNDA ...
M
Eletricidade fenmeno de transporte
de energia atravs de cargas eltricas ou, mais
corretamente, campos eletromagnticos em
materiais condutores, como os metais.
M
Combustveis qualquer substncia
slida, lquida ou gasosa capaz de combinar
com oxignio em reaes qumicas que liberam
energia, transformando-se na sua maior parte
em gs carbnico (CO
2
), gua e calor (energia de
movimento das molculas resultantes).
I
T
A
I
P
B
I
N
A
C
I
O
N
A
L
L
U
C
I
A
N
A
W
I
T
A
K
E
R
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
Hidreltrica de Itaipu (PR). Usinas nucleares de Angra I e II (RJ), 2007.
M
A
T
R
I
Z
E
N
E
R
G
T
I
C
A
B
R
A
S
I
L
E
I
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 345
RECURSOS ENERGTICOS E MINERAIS
de Energia Eltrica (Proinfa) executado pela Eletrobrs, de
2003 a 2004. Nesse programa, foram contratadas, atravs
de leilo, a eletricidade das pequenas centrais hidreltricas,
as chamadas PCHs (at 30 MW), das plantas industriais pro-
dutoras de acar e lcool, e das turbinas de gerao elica,
para alimentarem as linhas de transmisso de eletricidade,
principalmente em escala regional. Foram contratados pou-
co mais de 3.000 MW e elas devero entrar em operao at
o fnal de 2008, dependendo dos cronogramas especfcos
de construo.
No h ainda clareza se o governo pretende continuar
com o Proinfa. Estima-se que as fontes renovveis de peque-
na escala ainda representem menos de 2% da capacidade
de gerao nacional. A Agncia Nacional de Energia Eltrica
(Aneel) responsvel pelo controle e fscalizao das instala-
es de gerao, transporte e distribuio de energia eltrica
no Brasil, sendo tambm a responsvel pela fxao das tari-
fas do setor eltrico. Segundo a
Aneel, em junho de 2007, o Pas
contava com 1.631 instalaes
geradoras de eletricidade, dos
mais diferentes tamanhos e
fontes, em operao. A Tabela
ao lado traz essa diversidade.
Ela mostra que as grandes
hidreltricas, termoeltricas,
usinas a bagao de cana e usi-
nas nucleares respondem por
98,2% da capacidade de gera-
o instalada. Isso signifca um
potencial de crescimento muito
forte para as fontes renovveis
de menor escala, como a elica,
a solar e as PCHs.
VOCE SABIA?
M
A Prefeitura de So Paulo sancionou em
julho de 2007 uma lei que torna obrigatria a
instalao do sistema de aquecimento de gua
por meio do uso de energia solar nas novas
edifcaes da Cidade (ver Alguns Combust-
veis e Suas Vantagens Aquecimento Solar,
pg. 350).
SAIBA MAIS Cidades Solares (www.cidades
solares.org.br).
VEJA TAMBM Energia no Brasil e no Mundo
(pg. 340); Eletricidade (pg. 346), Combustveis
(pg. 348); O Brasil e a Mudana Climtica (pg.
365), Desafo do Sculo (pg. 373).
Tipo de Usina Quantidade Potncia Participao (%)
Outorgada (kW)
CGHs
(1)
204 108,328 0.1%
Elicas 15 239 0.0%
PCHs 283 1,713,070 1.7%
Solares 1 20 0.0%
Hidroeltricas 158 74,438,695 73.2%
Termoeltricas
(2)
968 23,428,578 23.0%
Nucleares 2 2,007,000 2.0%
Total 1.631 101,695,930 100.0%
(1)
CGHs centrais geradoras de hidreletricidade so instalaes com capacidade instalada menor que 1.000 kW.
(2)
Inclui as usinas a bagao de cana.
Fonte: Aneel.
INSTALAES GERADORAS DE ELETRICIDADE
EM OPERAO NO BRASIL, EM JUNHO DE 2007
graves: custo proibitivo e lixo nuclear (ver Energia Nuclear,
pg. 351). O clima e a geografa brasileiros favorecem a
utilizao de energias renovveis, como a solar, elica, de
biomassa e mesmo de ondas do mar. Essas fontes de energia
renovvel, ao contrrio do petrleo, das grandes barragens
e das usinas nucleares, possibilitam a descentralizao da
gerao de energia e a universalizao do acesso eletrici-
dade, promovendo a incluso de milhes de brasileiros ainda
marginalizados do sistema eltrico brasileiro.
Fontes renovveis
A ltima experincia de grande escala visando a in-
cluso das fontes renovveis de energia no sistema eltrico
brasileiro foi o Programa de Incentivo s Fontes Alternativas
E
L
E
T
R
I
C
I
D
A
D
E
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 346
RECURSOS ENERGTICOS E MINERAIS
ELETRICIDADE
ROBERTO KISHINAMI*
Na Amaznia onde est o maior potencial hidreltrico a ser explorado no Pas existem os maiores
exemplos de projetos hidreltricos no sustentveis do ponto de vista ambiental ou econmico
* Fsico, especialista em Planejamento
Energtico e Meio Ambiente
Das diferentes formas de energia presentes no nosso
cotidiano, a eletricidade , sem dvida, a mais simples e ver-
stil. A rigor, ela no uma fonte pois precisa ser gerada a
partir de algum outro energtico mas um efciente vetor,
uma forma muito boa de transportar e distribuir a energia
que precisamos para inmeros usos finais: iluminao,
acionamento de motores e mquinas, funcionamento de
aparelhos eletrnicos, aquecimento, refrigerao etc.
A capacidade instalada de gerao no Brasil, em junho
de 2007, segundo a Aneel de 101,7 mil megawatts (MW),
dos quais 74,4 mil megawatts em hidreltricas includa
a metade da Usina Hidreltrica (UHE) Itaipu, um empre-
endimento binacional Brasil e Paraguai de 12,6 mil MW
e 23,4 mil megawatts em termoeltricas, alm dos 2 mil
MW das usinas nucleares (I e II) em Angra dos Reis. Naquele
mesmo ano, estavam em construo 5,2 mil MW, conforme
mostra a Tabela na pgina ao lado.
Embora seja energia renovvel, a hidreletricidade tem um
histrico de problemas sociais, como a expulso de milhares
de moradores locais, incluindo populaes tradicionais, das
reas de alagamento, pois a construo de usinas hidreltricas
envolve a criao de grandes lagos pelo represamento dos
rios, que substituem defnitivamente a vegetao nativa, as
plantaes, as criaes de animais e as prprias comunidades
que ali viviam (ver Barragens, pg. 311).
Alm disso, na Amaznia onde est o maior potencial
hidreltrico a ser explorado, de acordo com a Empresa de
Planejamento Energtico (EPE) do Ministrio de Minas e
Energia existem os maiores exemplos de projetos hidre-
ltricos no sustentveis do ponto de vista ambiental ou
econmico. O caso mais conhecido a Usina Hidreltrica de
Balbina, da empresa Eletronorte e localizada a 180 km de
Manaus. A represa dessa usina ocupa uma rea de 2.360 Km
e sua gerao ocorre em turbinas com capacidade instalada
total de 250 MW.
A relao de 9,4 km por MW instalado bastante
ruim, pois representa uma grande rea inundada para
um potencial relativamente pequeno de gerao, mas os
registros histricos mostram um quadro ainda pior: a UHE
Balbina gera, de fato, o equivalente a 80 MW mdios ao
longo do ano. Essa baixssima relao entre rea alagada
e energia gerada tornou a UHE Balbina um exemplo de
inviabilidade econmica e ecolgica
em todo mundo. No bastasse isso,
o Instituto Nacional de Pesquisas da
Amaznia (Inpa), do Ministrio de Ci-
ncia e Tecnologia, realizou medies
do teor de metano gs formado
pela decomposio anaerbica da
matria orgnica da foresta que fcou
embaixo dgua com o enchimento
do lago nas guas da represa de
Balbina. Essas medies indicam que
ela emite gases de efeito estufa (gs
carbnico e metano) tanto quanto
uma termoeltrica com a mesma
capacidade de gerao. Ou seja, do
M
A
U
R
I
C
I
O
S
I
M
O
N
E
T
T
I
/
P
U
L
S
A
R
I
M
A
G
E
N
S
Restos de rvores inundadas no lago da UHE Balbina (AM). Com a mesma rea
inundada de Tucuru (PA), a hidreltrica produz 32 vezes menos energia.
E
L
E
T
R
I
C
I
D
A
D
E
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 347
RECURSOS ENERGTICOS E MINERAIS
potncia instalada seja de 0,3 km por MW instalado, ela tem
sua eletricidade voltada na maior parte para a produo de
alumnio, instalada no vizinho Estado do Maranho. Como a
eletricidade fornecida pela Eletronorte para essas indstrias
eletro-intensivas subsidiada, o resultado fnal que a
Amaznia exporta minrio e eletricidade subsidiados para
outros lugares, do Pas e do exterior, sem quase nenhum
benefcio local (ver Amaznia, pg. 95).
Licenciamento Ambiental
A legislao ambiental brasileira (ver Legislao
Brasileira, pg. 482) preconiza que as guas superfciais e
subterrneas devem ser analisadas sob o princpio dos usos
mltiplos abastecimento humano, gerao de energia
eltrica, irrigao, abastecimento industrial, lazer, transporte,
entre outros e que esto protegidas pelo licenciamento am-
biental das atividades que busquem seu aproveitamento.
Dos empreendimentos hidreltricos propostos para a
regio amaznica, preocupa em especial a Central Hidrel-
trica Belo Monte, proposta pela Eletronorte com o apoio da
holding Eletrobrs. Esse projeto, anteriormente denominado
Karara e que teve reduzida sua rea de inundao original
de 1.225 km para 440 km com
uma potncia instalada de 11
mil MW, ter efeitos desastrosos
para o Rio Xingu. Um exemplo
de impacto que o Xingu teria
trechos com cheias permanen-
tes, alterando drasticamente o
regime hidrolgico de secas e
cheias, do qual dependem no
s a vegetao, mas tambm
as comunidades tradicionais
que vivem ao longo do Rio (ver
Parque Indgena do Xingu,
pg. 278).
ZOOM
CONSERVAO DE ENERGIA
Embora a racionalizao do uso da eletrici-
dade no Brasil faa parte dos programas ofciais
dos governos brasileiros desde a dcada de 1980,
foi a populao brasileira que com muito pouca
orientao vinda das autoridades produziu a
maior, mais rpida e signifcativa economia de
energia, durante o conhecido apago. No binio
2000-2001, o Pas se viu diante de uma escassez
de gua nos reservatrios, antes que tivesse incio
o perodo de chuvas que, normalmente, tem incio
em meados de outubro. Somente no incio de 2005
os nveis de consumo de eletricidade voltaram aos
patamares prvios a 2000 (ver Grfco 1, pg.
341). Esse um fenmeno que ainda est para
ser melhor estudado e compreendido.
VEJA TAMBM Energia no Brasil e no Mundo
(pg. 340); Matriz Energtica Brasileira (pg. 344);
Combustveis (pg. 348), O Brasil e a Mudana
Climtica (pg. 365), Desafo do Sculo (pg. 373).
ponto de vista do clima global, a UHE Balbina to suja
quanto uma termoeltrica.
O potencial hidreltrico da Amaznia tem sido explo-
rado em um modelo exportador tanto de energia como de
matrias-primas. Um exemplo a UHE Tucuru, da empresa
Eletronorte e localizada no Rio Tocantins, a 300 km de Belm,
no Par. Sua capacidade instalada de 8,4 mil MW, com uma
represa de 2.430 km. Embora seu ndice de rea alagada por
Tipo de Usina Quantidade
Potncia
Participao (%)
Outorgada (kW)
CGH
(1)
1 848 0,0%
Elicas 1 10 0,0%
PCHs 56 1.043.370 19,9%
Hidreltricas 13 3.626.800 69,3%
Termoeltricas 14 561.298 10,7%
Total 85 5.232.326 100,0%
(1)
CGHs centrais geradoras de hidreletricidade so instalaes com capacidade instalada menor que 1.000 kW.
Fonte: Aneel.
INSTALAES GERADORAS DE ELETRICIDADE
EM CONSTRUO NO BRASIL, EM JUNHO DE 2007
C
O
M
B
U
S
T
V
E
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 348
RECURSOS ENERGTICOS E MINERAIS
COMBUSTVEIS
ROBERTO KISHINAMI*
Nas ltimas quatro dcadas, os combustveis renovveis perderam terreno,
proporcionalmente, para os combustveis no-renovveis ou fsseis
Os combustveis usados em nosso cotidiano podem ser
divididos em slidos, lquidos e gasosos. Dos combustveis
slidos, a lenha e carvo vegetal, junto com os resduos
da agricultura so os de uso mais antigo, remontando ao
perodo de descoberta do domnio do fogo pela espcie
humana. Os combustveis lquidos foram usados em larga
escala apenas depois do fnal do sculo XIX. Um desses
combustveis foi o leo de baleia, que alimentou sistemas
de iluminao pblica em cidades como Rio de Janeiro e
Petrpolis, ainda no tempo do Imperador Pedro II. E mesmo
antes dos derivados de petrleo aparecerem (a gasolina, o
querosene e o leo diesel) os lcoois de madeira e cereais
(metanol e etanol) foram usados em diferentes partes da
Europa e da sia. O primeiro derivado de petrleo usado
em larga escala, no fnal do sculo XIX, foi o querosene de
iluminao, comercializado em latas com a medida de um
galo norte-americano, correspondente a 3,785 litros.
Os combustveis gasosos gs natural, gs liquefeito
de petrleo, gs de nafta, gs de coqueria, gs de aterro
(metano) etc. so todos de uso mais recente. Isso porque
os dutos necessrios ao seu transporte e distribuio s se
tornaram possveis a partir da Segunda Revoluo Industrial,
com a produo industrial de tubulaes de ferro fundido.
Combustveis Renovveis
A forma mais importante de classifcar os combustveis
separ-los entre renovveis e no-renovveis. No Brasil,
os combustveis renovveis mais importantes so o lcool
hidratado (etanol com at 4% de gua em sua composio,
vendido nos postos de abastecimento), o lcool anidro (eta-
nol com menos 1% de gua em sua composio que usado
como aditivo da gasolina, para melhorar sua octanagem,
alm de fornecer energia), o bagao de cana (resultante da
produo de acar e lcool a partir da cana-de-acar), a
lenha e o carvo vegetal. A Tabela 1 mostra as participaes
dos combustveis renovveis e no-renovveis na matriz
brasileira de combustveis, de 1970 a 2005.
A Tabela 1 mostra que, nas ltimas quatro dcadas,
os combustveis renovveis perderam terreno, proporcio-
nalmente, para os combustveis no-renovveis ou fsseis.
O crescimento absoluto do consumo dos produtos da cana-
de-acar (lcool e bagao de cana) foi muito menor que
o crescimento do consumo fnal dos derivados de petrleo:
26,5 milhes de tep contra 59,3 milhes de tep. Ao mesmo
tempo, o crescimento porcentual do consumo dos produtos da
(em milhes de toneladas equivalentes de petrleo)
1970 1980 1990 2000 2005
Combustveis Renovveis 35,7 41,3 49,6 48,2 64,9
Lenha e Carvo Vegetal 31,9 31,1 28,5 23,1 28,5
lcool e Bagao de Cana 3,6 9,2 19,0 20,8 30,1
Outros Renovveis 0,2 1,0 2,1 4,4 6,3
Combustiveis No-renovveis 27,9 62,4 72,3 112,4 121,3
Petrleo e Derivados 25,3 55,4 57,7 86,7 84,6
Gs Natural 0,2 1,1 4,3 10,3 20,5
Carvo Mineral e Derivados 2,4 5,9 9,6 13,6 13,7
Urnio (U3O8) e Derivados 0,0 0,0 0,6 1,8 2,5
CONSUMO FINAL DE COMBUSTVEIS RENOVVEIS
E NORENOVVEIS NA MATRIZ BRASILEIRA DE COMBUSTVEIS
Tabela 1
* Fsico, especialista em Planejamento Energtico e Meio Ambiente
C
O
M
B
U
S
T
V
E
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 349
RECURSOS ENERGTICOS E MINERAIS
O QUE OCTANAGEM
Octanagem ou nmero de octanos de um
combustvel mede a sua resistncia ao aumento
de presso antes de entrar em auto-detonao.
Um nmero alto de octanos importante porque
garante que a maior parte do combustvel entra
em ignio queima quando a compresso do
motor atinge o ponto mximo, favorecendo a con-
verso da exploso qumica em trabalho mecnico.
As substncias combustveis com Oxignio em suas
molculas (como o etanol) tm essa propriedade
anti-detonante.
Valores em milhes de toneladas equivalentes de petrleo (tep)
1970 1980 1990 2000 2004 2005
Etanol 0,3 1,7 6,3 6,5 7,0 7,3
leo Diesel 5,4 15,7 20,9 29,5 32,7 32,4
Gasolina 7,4 8,9 7,5 13,3 13,6 13,6
EVOLUO DO CONSUMO FINAL DE ETANOL
(ANIDRO E HIDRATADO), LEO DIESEL E GASOLINA DE 1970 A 2005
Tabela 2
cana-de-acar foi muito maior que o crescimento porcentual
dos derivados de petrleo: 736 % contra 234 %.
O crescimento da produo brasileira de petrleo e
derivados foi resultado de uma diretriz no setor de petrleo
brasileiro, de busca da auto-sufcincia. Nessa direo, a Pe-
trobrs investiu desde a dcada de 1970 no desenvolvimento
de tecnologia para a explorao de petrleo em guas pro-
fundas, at alcanar poos em alto-mar com profundidades
acima de 2.000 metros. Atualmente, o volume de derivados
de petrleo consumidos aproximadamente igual ao volu-
me de petrleo extrado em territrio brasileiro.
O crescimento na produo de lcool da cana-de-acar
sofreu uma estagnao na dcada de 1990. A partir do incio
da presente dcada, a produo sucro-alcooleira ganhou
impulso por diferentes fatores.
A indstria do etanol no sculo XXI
Dois fatos independentes tornam o etanol da cana-
de-acar o principal combustvel alternativo gasolina. O
primeiro que, segundo a prpria Organizao dos Pases
Exportadores de Petrleo (OPEP), o preo do petrleo dever
situar-se numa faixa entre 50 e 60 dlares o barril (159 litros),
pelas prximas trs dcadas. Esse patamar alto comparado aos
preos vigentes nas dcadas de 1980 e 1990 deve-se ao fato de
que as novas reservas comercialmente rentveis encontram-se
em jazidas de custo mais alto de explorao. Um exemplo so
os campos petrolferos em alto mar (denominados of-shore)
sob profundidades superiores a 2.000 metros.
O segundo fato a necessidade de reduzir as emisses
de gases de efeito estufa principalmente gs carbnico
(CO2) da queima de combustveis fsseis: petrleo, gs
natural e carvo mineral (ver Mudana Climtica Global,
pg. 358). O etanol da cana-de-acar permite uma redu-
o efetiva dessas emisses quando substitui diretamente a
gasolina. Isso ocorre porque toda vez que a cana-de-acar
cresce, ela remove atravs da fotossntese o carbono da
atmosfera. Alm disso, o cultivo da cana-de-acar utiliza
muito pouco combustvel fssil, na forma de fertilizantes e
outros insumos (ver Os Biocombustveis, pg. 376).
O contrrio ocorre com o etanol de outras matrias-
primas, como o milho usado nos Estados Unidos ou a
beterraba da Unio Europia. Essas culturas exigem uma
quantidade proporcionalmente maior de combustveis
fsseis na produo de fertilizantes e outros insumos. No
caso do etanol de milho, o resultado negativo: em mdia
consome-se mais combustvel fssil gs natural para
produzir os insumos usados no cultivo, do que o combustvel
que substitudo nos automveis.
Somados os dois fatos, o resultado um crescimento
muito grande previsto para as prximas dcadas da produ-
o de etanol da cana-de-acar, tanto no Brasil como em
outras partes do mundo. Para dar uma idia, s no Estado
C
O
M
B
U
S
T
V
E
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 350
RECURSOS ENERGTICOS E MINERAIS
ALGUNS COMBUSTVEIS E SUAS VANTAGENS
M
Bagao de Cana A maior experincia brasileira de produo de energia com biomassa a queima do
bagao de cana nas caldeiras das usinas e destilarias. Todas as usinas e destilarias so auto-sufcientes em
energia e todas poderiam fornecer excedentes signifcativos de eletricidade para o sistema integrado nacional
(SIN). Esse potencial, entretanto, no tem se concretizado. A prpria nica, entidade brasileira que rene
os produtores de acar e lcool, estima que mais de 6.000 MW poderiam ser acrescentados capacidade
instalada de gerao, se todo potencial j existente fosse aproveitado.
M
Biodiesel No Brasil, existem dois programas paralelos de produo de leos vegetais para adio ao
leo diesel derivado de petrleo. O primeiro um programa do governo federal com o objetivo de estabelecer
uma nova cadeia produtiva baseada em leos vegetais extrados de sementes oleaginosas dos mais diferentes
tipos girassol, mamona, palmceas, pinho manso (Jatropha curcas) etc. e produzidas em propriedades de
agricultura familiar. Outra vertente do mesmo programa produz biodiesel a partir do sebo do boi. Esse programa
tem promovido a instalao de usinas produtoras de biodiesel em todo territrio nacional. O segundo programa
mantido pela Petrobrs (Hbio) e consiste na adio de leo de soja ao diesel, valendo-se de excedentes de
produo desse derivado. O Brasil o segundo produtor e o primeiro exportador mundial de soja.
M
Etanol As principais pesquisas na rea de produo do etanol voltam-se para a busca da converso
enzimtica de celulose e hemicelulose em etanol. O objetivo dessas pesquisas projetar um biorreator onde
bactrias ou outros microorganismos produzam etanol a partir de matrias-primas to abundantes como
folhas, galhos, gramneas (a cana-de-acar uma delas) e literalmente tudo que tiver celulose.
M
Aquecimento Solar H duas aplicaes que devem ser consideradas. Nas reas onde a rede de trans-
misso e distribuio no chega, pode ser vantajoso instalar painis fotovoltaicos que convertem a energia
solar diretamente em eletricidade. Embora o custo dessa tecnologia chegue a R$ 10.000 o kW instalado, ele
pode prover servios essenciais como iluminao e refrigerao a um custo competitivo para esses lugares.
Outra aplicao, de mais baixo custo, sos os aquecedores de gua que podem substituir o uso do chuveiro
eltrico, um dos equipamentos que mais consomem eletricidade nos horrios de pico no setor residencial.
Estima-se que dos 83,2 bilhes de quilowatt-hora consumidos em 2005 pelas residncias, em torno de 12
bilhes de quilowatt-hora poderiam ser evitados pela instalao de aquecedores solares de gua.
de So Paulo esto previstas 86 novas usinas de lcool para
entrar em operao at 2012.
Apesar do crescimento dos combustveis renovveis
na matriz de transportes, importante ter em mente que a
gasolina e o leo diesel continuam sendo os principais com-
bustveis usados nos motores de exploso interna ciclo Otto
e ciclo Diesel. A Tabela 2 mostra a evoluo do consumo de
etanol, leo diesel e gasolina, de 1970 a 2005. As duas ltimas
colunas da tabela apresentam os dados de 2004 e 2005. Por
elas possvel verifcar que o consumo de leo diesel teve um
pequeno decrscimo e o de gasolina continua estvel. Dos trs
combustveis, o nico cujo consumo cresce o etanol. Apesar
disso, visvel que o consumo de gasolina quase o dobro do
consumo de etanol. O biodiesel, um programa ainda novo na
matriz energtica brasileira, no teve ainda resultados visveis
ao nvel do Balano Energtico Nacional. Ainda assim, a meta
governamental de adicionar 2% em volume de biodiesel ao
leo diesel dever ser alcanado por volta de 2008.
VEJA TAMBM Energia no Brasil e no Mundo
(pg. 340); Matriz Energtica Brasileira (pg. 344);
Eletricidade (pg. 346), O Brasil e a Mudana Cli-
mtica (pg. 365), Desafo do Sculo (pg. 373).
E
N
E
R
G
I
A
N
U
C
L
E
A
R
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 351
RECURSOS ENERGTICOS E MINERAIS
ENERGIA NUCLEAR
RICARDO ARNT*
Fisso do tomo no lana gases, mas gera lixo
*Jornalista, Assessor de Comunicao da Presidncia da Natura, autor de Um Artifcio
Orgnico: Transio na Amaznia e Ambientalismo (Rocco, 1992) e O que Poltica Nuclear
(Brasiliense, 1983), entre outros livros
SAIBA MAIS Sinal Vermelho (www.sinalverme
lho.org.br); Greenpeace (www.greenpeace.org.br/
nuclear/); Eletronuclear (www.eletronuclear.gov.br)
As teses antinucleares dos anos 1970 estavam bastante
erradas. A energia nuclear fornece 80% da energia eltrica
da Frana e 50% da Sucia, sem acidentes, e os dois pases
esto longe de ser tecnocracias fascistas. O problema
menos a tecnologia e mais as instituies polticas que
regem seu funcionamento. No por acaso, o mega-sinistro
de Chernobyl, que matou 30 mil pessoas e espalhou uma
nuvem radioativa sobre milhes de europeus em 1986, acon-
teceu na totalitria ex-URSS. Vinte anos depois, 16 milhes
de ucranianos continuam a sofrer de seqelas como cncer
e mutaes genticas. Os riscos, portanto, so enormes (ver
Riscos e Acidentes Socioambientais, pg. 456).
Recentemente, ambientalistas respeitveis vm
admitindo que a energia nuclear pode ser uma alternativa
num planeta cada vez mais poludo e aquecido pelo efeito
estufa. Para pases que no tm opes, pode. A fsso do
tomo no lana gases na atmosfera, certo, mas gera lixo
radioativo perigoso durante milnios e no h soluo para
o problema. Por isso a Alemanha decidiu desativar suas 20
usinas nucleares. Pases como a China e a ndia, entretanto,
esto construindo novas.
A primeira usina nuclear do Brasil, Angra I, foi comprada
da Westinghouse e implantada em 1972. Em 1975, o Pas assi-
nou um acordo com a Alemanha prevendo a aquisio de oito
reatores da Siemens. Desses, s o de Angra II fcou pronta e os
equipamentos de Angra III foram adquiridos. A construo de
Angra III foi protelada durante dcadas pela falta de recursos,
pelos temores ambientais e pela controvrsia gerada por
Angra I, conhecida como vaga-lume devido s freqentes
interrupes no fornecimento de energia. Mas o reator de
Angra II j bem mais efciente do que Angra I.
Com as crescentes difculdades do licenciamento das
hidreltricas, o Conselho Nacional de Poltica Energtica
decidiu, em junho, construir Angra III. Faltam R$ 7,2 bilhes
para terminar a obra, mas como R$ 1,5 bilho j foram
gastos com equipamentos, o custo antes descartado como
alto virou razovel diante da falta de opes. A Comisso
Nacional de Energia Nuclear por sua vez sonha com o pleno
aproveitamento das reservas de urnio do Pas e com a
construo de mais sete usinas, no Nordeste e o Sudeste,
regies onde o potencial hidreltrico est esgotado. Este
o trunfo da energia nuclear: poder instalar usinas junto
aos centros consumidores. Seu problema apaziguar a
vizinhana.
O Brasil dispe de opes mais baratas, abundantes e
renovveis, mas os custos polticos aumentam e podem en-
curralar o governo. O Pas detm 18% das guas de superfcie
do mundo e apenas 25% do potencial hidreltrico dos seus
rios foram aproveitados. A matriz hidreltrica limpa e renov-
vel gera 85% da energia eltrica consumida e pe o Brasil na
vanguarda do Protocolo de Quioto. Mas os 75% dos rios que
restam esto na Amaznia, onde a geologia apresenta poucos
declives, e vive 7% da populao. Turbinas a fo dgua, que
alagam menos rea, j so uma evoluo.
O Brasil tem enorme potencial de biomassa (lcool,
biodiesel, co-gerao), de energia elica (embora intermi-
tente e no armazenvel) e de energia solar (ainda cara),
sem falar de gs, petrleo e carvo poluidores. A energia
o insumo vital do futuro eletrointensivo da humanidade e
o Pas precisa usufruir as suas vantagens comparativas para
dinamizar a economia e diminuir a pobreza. Tambm precisa
estimular a conservao.
Mas que ningum se iluda: para acelerar o crescimento
ser preciso mais energia nova. A Argentina, que cresce 9%
ano, j esbarrou no racionamento de energia. O Greenpeace
estima que o Brasil precisa triplicar sua oferta de energia
em 45 anos para suprir suas necessidades. Os ambientalistas
tm, assim, a oportunidade histrica de promover a susten-
tabilidade do Pas pelo caminho melhor e mais vivel. Basta
fazerem a escolha certa.
M
I
N
E
R
A
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 352
RECURSOS ENERGTICOS E MINERAIS
MINERAO
LUIS ENRIQUE SNCHEZ*
A extrao e o processamento de bens minerais so atividades
importantes para a economia brasileira, mas a minerao naturalmente
impactante e j deixou grandes passivos ambientais
*Professor titular do Departamento de Engenharia de Minas e de Petrleo
da Escola Politcnica da Universidade de So Paulo
Em todo o mundo, uma proporo crescente da mal
distribuda riqueza econmica provm de servios, incluindo
a produo e a troca de informao. Mesmo assim, a base
material da economia e da vida humana e continuar
sendo imprescindvel. gua e minerais continuam sendo
consumidos em quantidades cada vez maiores, em que
pesem os esforos (e os sucessos) de reutilizao e de
reciclagem. Os bens minerais provem moradia, energia,
transporte e comunicao, elementos necessrios para a
construo de sociedades sustentveis. No entanto, sua
extrao e processamento so causa de diversos impactos
socioambientais, principalmente considerando que neste
incio de sculo tem havido um boom da indstria mineira
mundial, impulsionada em grande parte pela demanda
chinesa. O debate sobre em que medida a minerao pode
contribuir para o desenvolvimento sustentvel no Brasil
ainda muito incipiente.
A dimenso econmica
A extrao e o processamento de bens minerais so
atividades importantes para a economia brasileira. Em
2004, o produto da indstria mineral no Brasil foi de 28
bilhes de dlares (incluindo petrleo e gs). O produto
da transformao mineral (produo de metais, cimento,
fertilizantes etc.) chegou a 70 bilhes de dlares, corres-
pondentes a 10,5% do produto interno bruto. Os principais
bens minerais produzidos no Pas, em quantidade minera-
da, so mostrados na Tabela na pgina seguinte. Em 2005,
Mina de ferro de Carajs (PA) explorada pela Companhia Vale do Rio Doce.
P
E
D
R
O
M
A
R
T
I
N
E
L
L
I
M
I
N
E
R
A
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 353
RECURSOS ENERGTICOS E MINERAIS
so de pequeno porte, produzindo entre 10.000 e 100.000
toneladas por ano (t/ano) e apenas 101 so de grande porte,
com uma produo de mais de 1 milho de toneladas por ano
(Mt/ano). H, entretanto, inmeras pequenas minas e garimpos
de produo abaixo de 10.000 t/ano.
O emprego formal na minerao brasileira era de 128
mil postos de trabalho em 2005, mas um contingente pelo
menos equivalente deve estar ocupado de maneira informal.
Algumas fontes estimam que a minerao e a transformao
de bens minerais emprega diretamente cerca de 500 mil
pessoas, enquanto o nmero de empregos indiretos seria
da ordem de 2,5 milhes. A indstria extrativa apresenta
elevados ndices de acidentes de trabalho, estando entre
os setores de maior ndice de acidentes fatais e acidentes
que causam incapacidade permanente.
Os impostos decorrentes da minerao benefciam cerca
de 1.200 municpios, mas somente 25 deles concentram
70% da arrecadao.
A minerao parte importante da histria do Brasil, no
s pelo ciclo do ouro do sculo XVIII, mas tambm pelo seu papel
na colonizao e integrao de muitas regies, na consolidao
do movimento sindical e da identidade de algumas regies.
Lamentavelmente, o patrimnio mineiro, representado, entre
outros atributos, por antigas galerias e instalaes industriais
e pela cultura do trabalhador mineiro pouco reconhecido e
vem sendo esquecido e perdido. Sua valorizao e integrao a
roteiros de turismo industrial contribuiriam para a gerao de
emprego e renda nas antigas regies mineiras.
PRINCIPAIS BENS MINERAIS
PRODUZIDOS NO BRASIL
2005, em milhes de toneladas
Bem mineral Produo bruta
(1)
rochas ornamentais 6,4
caulim 6,6
sal 7,1
carvo 12,8
bauxita 31,2
rocha fosftica 34,5
petrleo 74,8
calcrios e dolomitos 80,4
areia de construo 196,0
minrio de ferro 376,2
rocha britada 1.356,0
gua mineral 4.300,0
(1)
Corresponde produo de minrio antes do tratamento.
Fonte: DNPM, Anurio Mineral Brasileiro 2006 e Sumrio Mineral 2006, exceto petrleo,
com dados de ANP, Anurio Estatstico 2003
VOC SABIA?
M
O Brasil produz cerca de 40 milhes de to-
neladas anuais de cimento, uma pequena parte
das quase 2,1 bilhes de toneladas produzidas
mundialmente, quase metade das quais na China.
A indstria de cimento contribui com cerca de 5%
das emisses globais de gs carbnico. Para cada
tonelada de cimento produzida so necessrios de
1,2 a 1,3 toneladas de calcrio, cerca de 250 kg de
argila, de 110 kWh a 140 kWh de energia eltrica
e de 60 a 130 kg de combustvel.
o saldo positivo da balana comercial de bens minerais foi
de 15 bilhes de dlares.
O principal item da pauta de exportaes de bens mi-
nerais o minrio de ferro. O Pas importante exportador
de bauxita (minrio de alumnio), rochas ornamentais
e caulim, mas tambm importa diversos minerais para
atender demanda da indstria e do mercado interno,
destacando-se o carvo, usado principalmente em side-
rurgia, concentrado de rocha fosftica e sais de potssio,
ambos empregados na fabricao de fertilizantes qumicos
e concentrado de cobre.
Dimenso social
O perfl das empresas produtoras de bens minerais no
Brasil assemelha-se a uma estrutura piramidal, apresentando
centenas de pequenas empresas, cooperativas garimpeiras e
mineradores informais na base, e uma empresa em posio
dominante. A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) diretamente
responsvel por pouco mais de 55% do valor da produo
mineral brasileira, ao mesmo tempo em que acionista majo-
ritria de trs outras empresas dentre as seis maiores do Pas.
Das 2.455 minas ativas ofcialmente cadastradas no Pas, 1.770
M
I
N
E
R
A
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 354
RECURSOS ENERGTICOS E MINERAIS
Impactos ambientais
A extrao, o processamento, o transporte e o consumo
de bens minerais no se fazem sem o consumo de energia, a
gerao de resduos e a emisso de poluentes. Os impactos
de cada mina dependem de sua localizao, do tipo de
minrio extrado e da tecnologia empregada. Minas situadas
nas proximidades de reas urbanas, como as pedreiras, so
MINERAO EM REAS PROTEGIDAS
FANY RICARDO*
TERRAS INDGENAS
A atividade minerria no permitida em terras
indgenas, por no ter sido regulamentado o pargrafo
3 do artigo 231 da Constituio, que diz a pesquisa e a
lavra das riquezas minerais em terras indgenas s podem
ser efetivadas com autorizao do Congresso Nacional, ou-
vidas as comunidades afetadas, fcando-lhes assegurada
participao nos resultados das lavras, na forma da lei.
Em maio de 2007, a Cmara dos Deputados criou
uma Comisso Especial para discutir o Projeto de Lei
(PL) 1.610, de autoria do senador Romero Juc, que dis-
pe sobre a explorao e o aproveitamento de recursos
minerais em terras indgenas, que tramita no Congresso
Nacional desde 1996. Nessa Comisso, ser tambm
discutido o PL elaborado pelo governo em 2006, com
o mesmo objetivo de regulamentar essa atividade. A
proposta foi apresentada, pelo governo, na primeira
reunio da Comisso Nacional de Poltica Indgenista,
mas j tinha circulado informalmente, inclusive na
Conferncia Nacional dos Povos Indgenas, realizada
em Braslia, em 2006. Porm, os ndios querem discutir
esse assunto juntamente com outros temas, como terra
indgena, acesso aos recursos genticos etc., no Projeto
de Lei do Estatuto dos Povos Indgenas, que est parado
no Congresso Nacional h mais de dez anos.
Em fevereiro de 2005, os interesses minerrios nas
terras indgenas na Amaznia Legal incidiam atravs de
5.064 processos, em 132 terras, por 329 mineradoras
e suas subsidirias, alm de 66 pessoas fsicas. Esses
dados, que demonstram os interesses nos subsolos
das Terras Indgenas da Amaznia brasileira, foram
retirados de uma pesquisa do ISA com os dados do ca-
dastro mineiro do Departamento Nacional de Produo
Mineral, rgo do Ministrio de Minas e Energia.
O estudo demonstrou que 99,32% do subsolo da
TI Xikrin do Catet est requerido por empresas mine-
radoras. E o mesmo ocorre com nove terras indgenas
que tem mais de 90% de seu subsolo requerido, e outras
42 TIs, com mais de 50%.
Os nmeros so preocupantes, pois o que aconte-
cer quando for regulamentada essa atividade? Como
fcaro as comunidades indgenas afetadas por esses
interesses? Os impactos tambm advm da estrutura
necessria para um empreendimento minerrio, que
INTERESSE MINERRIO NAS
TIS CINTA-LARGA
fonte de incmodos devido emisso de rudo, de poeira
e de vibraes decorrentes do desmonte de rochas com
explosivos. Todos esses impactos podem ser controlados
com o uso de tcnicas bem conhecidas.
A minerao altera a paisagem. Solos e rocha esca-
vados (denominados estreis), armazenados sem critrio
tcnico, podem se tornar fontes de poluio das guas.
* Antroploga, coordenadora do Programa
Monitoramento de reas Protegidas do ISA
M
I
N
E
R
A
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 355
RECURSOS ENERGTICOS E MINERAIS
inclui ncleos de moradias de empregados, abertura de
estradas, uso e contaminao das guas dos rios.
Garimpo
Essa atividade realizada por indivduos, de
forma mais rudimentar, utilizando balsas, chupa-
deiras e outros equipamentos mais leves, e tem
sido realizada de maneira ilegal em algumas terras
indgenas. So pessoas que invadem essas reas e
iniciam a explorao, causando inmeros confitos e
predao ambiental.
Os principais confitos entre garimpeiros e ndios,
ocorrem nas terras indgenas Roosevelt (RO), Yanomami
(RR) e Kayap (PA).
A terra dos Yanomami foi duramente explorada por
garimpeiros em busca do ouro e cassiterita, na dcada
de 1980, ocasionando muitas mortes por doenas e
violncia contra os ndios. Ainda restam alguns pontos
de garimpo naquela rea (ver Yanomami, o esprito
da floresta, pg. 228). Porm, a questo mais
grave nesses ltimos anos est nas terras dos ndios
Cinta Larga, principlamente na TI Roosevelt que tem
sofrido invaso permanente de garimpeiros em busca
de diamantes.
Com o massacre de 29 garimpeiros, pelos ndios
CintaLarga, em abril de 2004, recrudesceu a questo
da explorao mineral em terras indgenas. Diante
do quadro de confito, o presidente Lula, atravs de
decreto, no dia 17 de setembro de 2004, proibiu todas
atividades garimpeiras, incluindo a dos ndios, em todas
as TIs no Brasil. Porm, a presena garimpeira permane-
ce e o governo federal tem sido pressionado a apressar
a regulamentao da minerao nessas terras.
Minas metlicas e de minerais industriais necessitam de
locais apropriados para estocar os rejeitos do processo de
tratamento de minrio. Como a maioria desses processos
feita por via mida, os rejeitos so formados por uma
suspenso aquosa e dispostos em estruturas de conteno,
como barragens e diques, sendo a gua recirculada. Mas
essas barragens interferem com o ambiente dos crregos e
com as reas marginais, nas quais a vegetao deveria ser
protegida, e devem ser mantidas indefnidamente depois
do fechamento da mina. Nos ltimos quatro anos, acidentes
envolvendo rupturas de barragens em Minas Gerais tiveram
grande repercusso na mdia e chamaram a ateno para a
importncia da preveno de riscos (ver Riscos e Aciden-
tes Ambientais, pg. 457).
UNIDADES DE CONSERVAO
Apesar das restries existentes a essas ativi-
dades nas reas protegidas, um estudo que o ISA
publicou em 2006, a partir dos dados do Departa-
mento Nacional de Produo Mineral, constatou
que dos 6 mil processos minerrios que incidem no
subsolo das Unidades de Conservao na Amaznia
Legal, 406 j esto em pesquisa ou lavra em 32 UCs
de proteo integral e em 23 reservas extrativistas,
onde no permitida a atividade minerria. Outros
571 processos esto em pesquisa ou explorao em 33
UCs de uso sustentvel, principalmente em Florestas
Nacionais e Estaduais.
A Lei do Snuc probe o uso dos recursos naturais
nos Parques Nacionais, Reservas Biolgicas e outras
de proteo integral, e nas outras de uso sustentvel
depender da categoria e de seu zoneamento e plano
de manejo.
Parte dos ttulos minerrios foram concedidos antes
da criao das UCs, nesse caso necessrio o cancela-
mento dos requerimentos e dos alvars de pesquisa e
de minerao concedidos. Alguns parques que foram
criados no governo Lula vieram com um inciso no decre-
to indicando que o subsolo integra os limites do Parque
Nacional, como por exemplo o Parna do Juruena, onde
grande o numero de processos minerrios.
SAIBA MAIS Ricardo, Fany e Rolla, Alicia. Minera-
o em Terras Indgenas na Amaznia Brasileira. So
Paulo: ISA, 2005;____. Minerao em Unidades
de Conservao na Amaznia Brasileira. So Paulo:
ISA, 2006. Ambas esto disponveis para download
(www.socioambiental.org/loja/download.html).
M
I
N
E
R
A
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 356
RECURSOS ENERGTICOS E MINERAIS
A abertura de toda nova mina necessita da obteno
de uma autorizao governamental chamada de licena
ambiental (ver Licenciamento Ambiental, pg. 449).
obrigao de toda empresa de minerao recuperar o
ambiente degradado de acordo com um plano previamente
aprovado pela autoridade governamental. Muitas empresas
conseguem bons resultados, plantando espcies nativas
em reas mineradas, evitando a eroso e reduzindo o
impacto visual.
A minerao deve ser encarada como uma forma tempo-
rria de uso do solo. A modifcao do relevo resulta na criao
de novos ambientes que podem ser utilizados aps o fecha-
mento da mina, para usos comerciais, industriais, residenciais,
recreativos ou de conservao ambiental, havendo inmeros
exemplos bem sucedidos. Infelizmente tambm h inmeros
exemplos de minas abandonadas e de trabalhos inadequados
de reabilitao. Ainda no h, no Brasil, uma exigncia legal
clara para planejar o fechamento de uma mina e para garantir
a disponibilidade de recursos fnanceiros para realizar todos
os trabalhos de reabilitao necessrios.
Em algumas regies mineiras, os danos causados por
dcadas de atividade (passivo ambiental) ainda no foram
devidamente recuperados; exemplos so a regio carbon-
fera de Santa Catarina, a extrao de rochas ornamentais no
Esprito Santo e os garimpos de ouro e cassiterita (minrio
de estanho) na Amaznia.
Minerao e sustentabilidade:
este debate faz sentido?
Poucas atividades parecem menos sustentveis do que
a minerao. Afnal, trata-se da extrao de recursos fnitos,
portanto exaurveis. A exausto das reservas minerais foi ob-
SAIBA MAIS Barreto, M.L. (Org.). Minerao
e Desenvolvimento Sustentvel: Desafos para o
Brasil. Rio de Janeiro, Cetem, 2001; Departamen-
to Nacional da Produo Mineral (http://www.
dnpm.gov.br); Snchez, L.E. A produo mineral
no Brasil: cinco sculos de impacto ambiental. In:
W.C. Ribeiro (Org.). Patrimnio Ambiental Brasi-
leiro. So Paulo, Edusp/Imesp, 2003.
jeto de acaloradas discusses durante dos anos de 1970, mas
as previses pessimistas no se concretizaram. Na verdade,
as reservas minerais conhecidas aumentaram desde ento,
graas aos investimentos na prospeco de novas jazidas e
aos avanos tecnolgicos que tornam vivel a explotao
de minrios cada vez mais pobres.
Em paralelo, aumentou a taxa de reciclagem. Muitos
minerais so reciclveis, como os metais e os agregados
de construo civil, mas outros so consumidos, como os
fertilizantes e os combustveis fsseis, e no podem ser
reciclados. Atualmente, ndices signifcativos de reciclagem
tm sido conseguidos somente para alumnio e alguns
outros metais de preo elevado, havendo ainda um longo
caminho a percorrer para reduzir a dependncia de novas
fontes de minrio.
O consumo de minerais de interesse social (areia, brita,
argilas, cimento) um indicador de bem-estar. O consumo
per capita nos pases em desenvolvimento signifcativa-
mente inferior ao de pases desenvolvidos, que j dispem
de vasta infra-estrutura e cuja populao cresce num ritmo
lento. de se esperar que o desejado avano no rumo do
desenvolvimento social leve a um aumento do consumo
dessas substncias.
O emprego de processos produtivos mais limpos, a
reduo dos impactos socioambientais durante todo o
ciclo de vida da mina, a proteo da biodiversidade e de
paisagens notveis, o exerccio pleno da responsabilidade
social e o retorno dos ambientes degradados a um novo
uso sustentvel so critrios para avaliar a sustentabilidade
da minerao.
COMO POSSO AJUDAR?
M
Segregar resduos e envi-los para reciclagem;
M
Conhecer os recursos minerais de sua regio
e os locais onde so produzidos;
M
Conhecer os impactos causados pela minerao
em sua regio e participar de associaes para
acompanhar o cumprimento das obrigaes das
empresas e das cooperativas de garimpeiros, assim
como dos rgos de fscalizao.
MUDANA CLIMTICA
Mudana Climtica Global, pg. 358;
O Brasil e a Mudana Climtica, pg. 365;
Desafo do Sculo, pg. 373
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 357
A ONU confrmou que a poluio infuencia as mudanas climticas, em especial o
aumento da temperatura do Planeta. Os ltimos dez anos foram os mais quentes
da histria. Se continuar, o fenmeno pode provocar eventos climticos extremos
e a extino de espcies, dentre outras conseqncias. Os oceanos podem inundar
regies costeiras, onde vivem 40% da populao da Terra. Essas mudanas podem j
estar afetando o Brasil, com perdas agrcolas no Sul e no Sudeste e estiagens severas
no Nordeste. Novos impactos no Pas seriam proporcionais sua extenso: savani-
zao da Amaznia, crises no sistema eltrico, falta de gua nas grandes cidades.
A principal causa do aquecimento a emisso de gases de efeito estufa dos pases
ricos e de algumas naes em desenvolvimento. O Brasil o quarto maior emissor
mundial, considerado o carbono liberado pelo desmatamento. Este captulo mostra
que as iniciativas de alguns governos trazem alento, mas so ainda insufcientes. Os
Estados Unidos, pas responsvel por 25% das emisses, continua fora do Protocolo
de Quioto, tratado internacional sobre o tema. Tornam-se urgentes polticas de
adaptao e mitigao s mudanas climticas. O problema no exige s matrizes
energticas alternativas, mas novos padres civilizatrios.
M
U
D
A
N
A
C
L
I
M
T
I
C
A
G
L
O
B
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MUDANA CLIMTICA
358
MUDANA CLIMTICA GLOBAL
MRCIO SANTILLI*
Confrmada pelos cientistas e j sentida pela populao mundial, a mudana climtica global
hoje o principal desafo socioambiental a ser enfrentado
Mudana climtica o nome que se d ao conjunto de
alteraes nas condies do clima da Terra pelo acmulo
de seis tipos de gases como o dixido de carbono (CO2)
e o metano (CH4) - na atmosfera, emitidos em quantidade
excessiva h pelo menos 150 anos, desde a Revoluo
Industrial, atravs da queima de combustveis fsseis, como
o petrleo e o carvo, e do uso inadequado da terra com a
converso das forestas e da vegetao natural em pasta-
gens, plantaes, reas urbanas ou degradadas.
Estes gases tambm chamados gases de efeito
estufa formam uma espcie de cobertor na atmosfera,
que impede que os raios solares que incidem sobre a Terra
sejam emitidos de volta ao espao, acumulando calor e
provocando o aumento da temperatura na sua superfcie,
assim como ocorre numa estufa de plantas. So gases que
sempre estiveram presentes na composio da atmosfera,
mas estima-se que h atualmente um acmulo de cerca de
30% a mais do que havia antes da Revoluo Industrial, e a
sua emisso continua crescendo, o que altera as condies
climticas naturais anteriores.
VOC SABIA?
M
Segundo Achim Steiner, diretor do Pnuma,
o Planeta j enfrenta a sua primeira guerra
causada, em parte, pelo aquecimento global.
Em Dafur, no Sudo, o nvel da chuva caiu 40%
desde a seca que devastou a regio na dcada de
1980 e a causa das lutas que j deixaram 200
mil mortos e 2,5 milhes de desabrigados.
*Filsofo, foi deputado federal e presidente da Funai;
coordenador da Campanha 'Y Ikatu Xingu pelo ISA
Seca no Rio Amazonas (AM), 2005.
D
A
N
I
E
L
B
E
L
T
R
A
/
G
R
E
E
N
P
E
A
C
E
M
U
D
A
N
A
C
L
I
M
T
I
C
A
G
L
O
B
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 359
MUDANA CLIMTICA
PORQUE O CALOR ENTRA, MAS NO SAI
Aps a radiao solar atravessar a atmosfera e atingir a superfcie da Terra, parte refetida e parte absorvida.
A parte absorvida transformada em calor sensvel e depois emitida para a atmosfera novamente como radiao
infra-vermelha. Essa radiao infra-vermelha , por sua vez, em parte absorvida por gases da atmosfera, e em
parte liberada para o espao. O efeito estufa ocorre quando alguns gases, chamados de gases do efeito estufa,
so liberados em grandes quantidades na atmosfera e passam a absorver mais radiao infra-vermelha do que o
normal, causando o aumento da temperatura na superfcie do Planeta.
Estima-se, tambm, que a temperatura da Terra
aumentou 0,7 grau centgrado no ltimo sculo e que os
ltimos dez anos foram os mais quentes da histria. Parece
pouco, mas a provvel intensifcao desse processo dever
provocar o degelo nos plos e em outras regies geladas do
Planeta, com o conseqente aumento do nvel dos oceanos.
Assim, ficaro afetados os ecossistemas marinhos, as
correntes e as ilhas ocenicas, as praias, os mangues e as
reas urbanas mais baixas das cidades litorneas.
O efeito estufa j vem afetando o regime de chuvas
em vrias partes do mundo, provocando secas e enchentes
mais intensas, com srias conseqncias para a agricultura.
O fenmeno El Nio provocado pelo aquecimento das
guas do Oceano Pacfco nas proximidades da costa peruana
est associado ao efeito estufa, que aumenta a sua freq-
ncia e intensidade, e tem afetado o clima sul-americano
e brasileiro alm de outras regies. Tambm se atribui
ao efeito estufa o aumento em nmero e intensidade de
ocorrncias catastrfcas como ciclones e furaces.
Segundo previses da maior parte dos cientistas, o
mundo todo sofrer com o impacto da mudana climtica j
no decorrer deste sculo. Alm de ameaar a sobrevivncia
de inmeras espcies, que no tero tempo de se adaptar
a elas, sofrero, em particular, as populaes humanas cuja
sobrevivncia dependa da pesca ou da agricultura. Embora
os pases desenvolvidos sejam os principais responsveis
M
U
D
A
N
A
C
L
I
M
T
I
C
A
G
L
O
B
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MUDANA CLIMTICA
360
O IPCC E A MUDANA CLIMTICA
SRGIO CORTIZO*
O IPCC (Painel Inter-governamental sobre Mudan-
as Climticas Globais, em portugus) um rgo da
ONU criado em 1988 especifcamente para estudar o
problema das mudanas climticas. Ele est subordi-
nado Organizao Meteorolgica Mundial (WMO, na
sigla em ingls) e ao Programa das Naes Unidas para
o Meio Ambiente (Pnuma). O papel do IPCC avaliar
as informaes cientfcas, tcnicas e socioeconmicas
relevantes para o entendimento do risco das mudanas
climticas induzidas pelo homem, seus impactos po-
tenciais e as opes de adaptao e mitigao.
O IPCC no pesquisa nem monitora diretamente
dados relativos ao clima, ele baseia suas avaliaes na lite-
ratura tcnico-cientfca j publicada. A principal atividade
do IPCC avaliar em intervalos regulares o conhecimento
a respeito das mudanas climticas. Alm disso, o IPCC ela-
bora Relatrios Especiais e Artigos Tcnicos que fornecem
subsdios adicionais para as discusses polticas no mbito
da Conveno Quadro da ONU sobre Mudanas Climticas
(ver Acordos Internacionais, pg. 477).
O Primeiro Relatrio de Avaliao do IPCC foi
publicado em 1990, o segundo em 1995, o terceiro
em 2001 e o quarto em 2007. Trs Grupos de Trabalho
colaboram na redao destes relatrios:
M
Grupo de Trabalho 1: avalia os aspectos cientfcos
do sistema climtico e suas mudanas;
M
Grupo de Trabalho 2: avalia a vulnerabilidade dos
sistemas natural e socioeconmico, as conseqncias
positivas e negativas das mudanas climticas e as
opes de adaptao a elas;
M
Grupo de Trabalho 3: avalia as opes para miti-
gao das mudanas climticas.
Devido grande quantidade de pesquisas cien-
tfcas efetuadas nos ltimos anos, hoje se considera
a "Cincia da Mudana Climtica" como uma nova
disciplina, que dispe inclusive de conceitos e meto-
dologias prprios. Alguns termos dessa nova cincia
comeam a circular fora da comunidade de especialistas
e da literatura tcnica, principalmente aps a grande
repercusso do 4
o
Relatrio de Avaliao (AR4) do IPCC
na mdia: "deteco", "atribuio", "projeo", "adapta-
o", "mitigao" e "vulnerabilidade".
O que diz o 4 Relatrio
O 4
o
Relatrio do IPCC apresentou uma avaliao
sistemtica da literatura cientfca sobre mudanas cli-
mticas publicada desde 2001. Uma primeira concluso
importante o consenso geral entre os especialistas a
respeito da deteco de mudanas no clima da Terra
como um todo:
"O aquecimento do sistema climtico inequvoco,
como agora evidente pelas observaes de aumento
das temperaturas mdias globais do ar e do oceano, de
derretimento generalizado de neve e gelo, e de elevao
do nvel do mar." (IPCC, fev/2007).
O Grfco 1 mostra claramente que a temperatura
mdia do Planeta subiu cerca de 0,7C ao longo do
sculo XX e tambm que h uma "acelerao" nesse
aquecimento: nos ltimos 25 anos a temperatura
subiu numa velocidade quatro vezes maior do que nos
ltimos 150 anos.
Esse aumento da temperatura no foi uniforme
no globo: o hemisfrio Norte esquentou mais do que
e o Sul e nas regies onde houve mais aquecimento
foram observadas mais alteraes em sistemas
naturais. Ao todo, o IPCC avaliou 577 trabalhos
cientficos descrevendo cerca de 80.000 sries de
dados, que mostram modificaes significativas em
sistemas fsicos (por exemplo: recuo de geleiras,
anomalias em rios, lagos e oceanos) e biolgicos
(exemplos: alteraes no comportamento de peixes,
aves, mamferos e outras espcies animais; mudana
nas regies de ocorrncia e no ciclo anual de espcies
vegetais).
*Fsico, doutor em Filosofa e consultor em mudanas climticas e energia
contato@sergio.cortizo.nom.br
M
U
D
A
N
A
C
L
I
M
T
I
C
A
G
L
O
B
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 361
MUDANA CLIMTICA
MUDANAS EM SISTEMAS FSICOS E BIOLGICOS E TEMPERATURA DA SUPERFCIE 1970-2004
GRFICO 1
A questo da atribuio das mudanas climticas
mais complexa: como determinar cientifcamente a
causa do aquecimento do Planeta?
A comunidade cientfca aborda hoje essa questo
construindo modelos matemticos de simulao do
sistema climtico que incluem os principais fatores
naturais e antropognicos (causados pelo ser humano)
que poderiam ser responsveis pelo aquecimento do
Planeta. Vrios desses modelos j foram validados:
comprovaram sua capacidade de simulao, repro-
duzindo as variaes observadas no passado no clima
da Terra. Nesses modelos, o aumento detectado na
temperatura do Planeta s pde ser explicado atravs
do efeito estufa provocado pela poluio.
Esse resultado pode ser visto no Grfco1, onde a
linha preta indica a temperatura mdia observada ao
longo do sculo XX em cada um dos seis continentes; na
superfcie do Planeta como um todo; e nas superfcies
terrestre e ocenica do globo separadamente. Em
todos esses grfcos, a faixa vermelha representa as
estimativas de temperatura dos modelos de simulao
incluindo os fatores naturais e antropognicos (como a
M
U
D
A
N
A
C
L
I
M
T
I
C
A
G
L
O
B
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MUDANA CLIMTICA
362
poluio), enquanto a faixa azul indica as estimativas
de temperatura supondo apenas os fatores naturais.
Podemos ver que em todos os nove grfcos a tempe-
ratura observada est dentro da faixa vermelha e fora
da faixa azul no fnal do sculo XX. Com base nessa linha
de argumentao, mas reconhecendo que os modelos
de simulao fazem simplifcaes e esto sujeitos a
erros e incertezas, o IPCC conclui que:
muito provvel que a maior parte do aumento ob-
servado nas temperaturas globais mdias desde meados do
sculo XX se deva ao aumento observado nas concentraes
antrpicas de gases de efeito estufa(IPCC, fev/2007).
Na linguagem tcnica do IPCC, "muito provvel"
signifca "com mais de 90% de chance". No terceiro
relatrio (2001), o grau de certeza cientfica da
atribuio do aquecimento do Planeta ao aumento
exagerado dos gases-estufa na atmosfera foi estimado
pelo IPCC em 66%.
Os modelos matemticos de simulao tambm
so usados pelos cientistas na elaborao de proje-
es: previses para o clima do Planeta no futuro.
Essas projees, contudo, dependem de quanto ser
emitido de gases-estufa nos prximos anos. O IPCC
publicou em 2000 vrios cenrios de emisses para
o sculo XXI em um relatrio especial (SRES - Special
Report on Emission Scenarios), que foram usados como
hiptese de trabalho nas projees cientfcas avaliadas
e resumidas no quarto relatrio.
Conforme o cenrio adotado, as projees indicam
um aumento adicional de 1 a 6 graus Celsius na tempe-
ratura do Planeta at o fnal do sculo XXI.
Este aquecimento expe todas as formas de vida
da Terra a dois tipos de risco: aqueles que podem ser
calculados e previstos e aqueles riscos totalmente
imponderveis, para os quais no h previso cientfca
disponvel nem mesmo em termos de probabilidade de
ocorrncia. Entre os riscos previsveis esto centenas
de mi lhes de seres humanos expostos fome, sede
e a doenas j nas prximas dcadas; a destruio
de milhares de ecossistemas e a extino em massa
de espcies animais e vegetais por todo o Planeta.
Todas as formas de vida tm uma capacidade natural
de adaptao a mudanas no seu meio ambiente,
inclusive o ser humano. Essa capacidade varia bastante
de uma espcie para outra, mas tem sempre um limite,
a partir do qual a extino certa.
O principal risco impondervel parece ser um
aumento sbito do nvel do mar, de at 12 metros: o
gelo das calotas polares deve demorar sculos para
derreter, mas pode desmoronar no oceano em um prazo
relativamente curto (meses ou anos), o que levaria a
um aumento imediato no nvel do mar. O IPCC adverte
que: "O entendimento desses processos limitado e
no h consenso sobre sua magnitude". Ou seja, no h
estimativas confveis nem mesmo da probabilidade
disso ocorrer, apesar de eventos espetaculares dessa
natureza j terem sido observados: no incio de 2002,
uma plataforma de gelo de 3.000 km2 de extenso
desmoronou no mar em apenas 35 dias (a banquisa
Larsen B, na Pennsula Antrtica).
A gravidade de tais projees, baseadas em es-
tudos cientfcos, alertou o mundo para a urgncia da
mitigao das mudanas climticas: adoo de me-
didas que atenuem o efeito estufa nos prximos anos e
dcadas, antes da ocorrncia de impactos praticamente
irreversveis (que exigiriam milhares ou milhes de anos
para o retorno situao original, como reconstituio
das geleiras continentais polares) ou absolutamente
irreversveis (como a extino de espcies).
O quarto relatrio do IPCC expressa claramente o
consenso cientfco atual a respeito da vulnerabilidade
de todo o Planeta ao aquecimento global:
"Mudanas climticas no mitigadas provavel-
mente excederiam, a longo prazo, a capacidade de
adaptao dos sistemas natural, gerido e humano"
(IPCC, fev/2007).
Em outras palavras: se nada for feito a respeito,
o ser humano provavelmente desaparecer da face
da Terra em consequncia das mudanas no clima do
Planeta que ele prprio causou.
SAIBA MAIS IPCC (www.ipcc.ch).
M
U
D
A
N
A
C
L
I
M
T
I
C
A
G
L
O
B
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 363
MUDANA CLIMTICA
histricos pelo acmulo de gases estufa na atmosfera,
estima-se que os pases mais pobres sero mais duramente
afetados pela mudana climtica. O caso mais grave o dos
pases insulares da Oceania que, com o aumento do nvel
do oceano e em vista da sua baixa altitude correm o
risco de submerso.
O Protocolo de Quioto e o MDL
Diante do consenso na comunidade cientfca, reunida no
IPCC (Painel Inter-governamental sobre Mudanas Climticas
em portugus), quanto ao aumento da temperatura na
Terra, a ONU aprovou a Conveno Quadro sobre as Mudanas
Climticas Globais, subscrita pelos chefes de estado reunidos
no Rio de Janeiro durante a Rio-92 (ver Conferncias
Internacionais, pg. 496). Sete anos depois, em 1997,
como a recomendao da Conveno para que os pases
desenvolvidos reduzissem as suas emisses no estava sendo
cumprida, foi aprovado, dentro do seu marco jurdico, um
novo instrumento o Protocolo de Quioto para estabelecer
prazos e metas obrigatrias. Estas metas reduo mdia de
5,2% em relao ao nvel de emisses dos pases industriali-
zados em 1990 so insufcientes para reverter a gravidade
da situao do clima, mas seriam um comeo.
O Protocolo de Quioto comeou a vigorar em 2005,
quando 139 pases o ratifcaram demonstrando inteno
da comunidade global de combater o aquecimento global.
Hoje, 169 pases mais a Unio Europia esto dentro do tra-
tado. Infelizmente, alguns pases que poluem muito, como
os Estados Unidos (responsvel por 25% das emisses),
ainda no ratifcaram o Protocolo.
Durante o primeiro perodo de vigncia, previsto
para 2008-2012, apenas os pases desenvolvidos emis-
sores histricos tero metas obrigatrias de reduo
de emisses. Alguns pases em desenvolvimento, como
a China, o Brasil e a ndia, incluem-se entre os maiores
emissores atuais, mas a sua participao nos esforos pr-
redues neste perodo estar restrita ao Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL), que prev que os pases
desenvolvidos podero fnanciar projetos em pases em
desenvolvimento para compensar redues de emisses
no realizadas internamente.
Vrios tipos de projetos podem ser executados
para reduzir emisses de gases estufa. Por exemplo,
NO CONFUNDA...
SRGIO CORTIZO*
TEMPO E CLIMA
As condies atmosfricas mudam constan-
temente: a temperatura aumenta durante o dia e
diminui noite; um dia chove e no outro faz sol,
determinadas pocas do ano so mais quentes e
midas, outras mais frias e secas. A meteorologia
chama estas condies instantneas e variveis da
atmosfera de "tempo".
Por outro lado, as variaes do tempo no so
totalmente caticas: elas seguem um padro mais
ou menos regular, caracterstico de cada regio
do Planeta. Em So Paulo, por exemplo, todos os
anos chove mais no vero do que no inverno, em
outros pontos da Terra os invernos so chuvosos e
os veres so secos.
Esse padro regional de variao do tempo de
acordo com a poca do ano chamado de "clima"
da regio. O clima de cada regio depende de
diversos fatores, como sua latitude, seu relevo, sua
vegetao, a proximidade do mar e a ocorrncia de
correntes martimas prximas costa. Estes fatores
em geral, no entanto, no variam rapidamente, de
forma que o clima de cada regio tende a perma-
necer constante ao longo dos anos.
No decorrer dos sculos e milnios, o clima das
diversas regies da Terra se altera, tanto devido
ao humana (como o desmatamento) quanto em
decorrncia de causas naturais (como variaes na
rbita do Planeta). Por exemplo, h 20.000 anos
a Terra era muito mais fria do que hoje, as calotas
polares eram muito maiores e o nvel do mar era
mais baixo do que o atual: o mundo vivia uma
"Era do Gelo".
VEJA TAMBM Universo (pg. 24); Zonas Cli-
mticas (pg. 371).
*Fsico, doutor em Filosofa e consultor em mudanas climticas e energia
* contato@sergio.cortizo.nom.br
M
U
D
A
N
A
C
L
I
M
T
I
C
A
G
L
O
B
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MUDANA CLIMTICA
364
se a frota de nibus de uma cidade, movida a diesel ou
gasolina, for substituda por nibus eltricos, retirando-
se os veculos anteriores de circulao, estar havendo
reduo de emisses, pois a produo e o uso da energia
eltrica implica em menor liberao de gases estufa que
a queima daqueles combustveis. O governo brasileiro
chancelou dois projetos para fins de detalhamento
com vistas ao MDL, que visam a reduo na emisso de
metano em lixes (em Duque de Caxias, Rio de Janeiro,
e em Salvador, Bahia).
Outros projetos, que tambm so admitidos no MDL,
podem objetivar a retirada (seqestro) de parte do carbono
acumulado na atmosfera, em vez da reduo de emisses.
Seria o caso do reforestamento: enquanto a vegetao
estiver crescendo em determinadas reas que anteriormente
estivessem desmatadas, carbono estar sendo retirado da
atmosfera para incorporar-se massa vegetal. Assim, o
benefcio climtico do seqestro do carbono ser tempo-
rrio, enquanto que a reduo de emisses promove um
benefcio permanente.
Alm do MDL, o Protocolo de Quioto prev outros dois
mecanismos de compensao que, no entanto, s se pres-
taro a negociaes entre os pases desenvolvidos que tm
metas de reduo de emisses para cumprir. As transaes
econmicas entre pases decorrentes da aplicao destes
mecanismos conformaro o mercado do carbono. Mas,
alm dos mecanismos ofcialmente previstos, este mercado
tambm ser constitudo por transaes extra Protocolo,
entre pases ou empresas que tenham interesse em reduzir
seus passivos em emisses independentemente dos acordos
multilaterais.
MUDANA CLIMTICA COM BURACO
NA CAMADA DE OZNIO
O buraco na camada de oznio um termo
popular usado para defnir uma rea da estra-
tosfera em que o oznio - forma de oxignio cuja
molcula constituda de trs tomos (O3) no lugar
de dois (O2) do oxignio normal se encontra em
concentrao menor que a esperada, devido ao
uso dos gases CFCs. Esses gases foram inventados
pelo homem para utilizao principalmente em
aerossis e sistemas de refrigerao. O buraco
foi constatado na dcada de 1980, quando se
verifcou sobre a Antrtica uma rea com 60% da
concentrao normal de oznio. Mais tarde, foram
encontradas novas reas com baixa concentrao
de oznio tambm no hemisfrio norte.
Para controlar o problema, as Naes
Unidas aprovaram o Protocolo de Montreal
sobre Substncias que Destroem a Camada de
Oznio, de 1987, do qual o Brasil signatrio
(ver Acordos Internacionais, pg. 478). Desde
ento, os pases desenvolvidos j eliminaram o
uso desses gases. O compromisso do Brasil o
banimento total at 2010.
Sem a camada de oznio, no seria possvel
a vida na Terra, pois ela retm 95% da radiao
ultravioleta, causadora de vrios tipos de cncer de
pele. Clculos da academia de cincias dos Estados
Unidos estimam que com a diminuio de 1% na
camada de oznio, 10 mil novos casos de cncer
de pele ocorrero naquele pas.
NO CONFUNDA... SAIBA MAIS Cartilha Perguntas e Respostas so-
bre Mudanas Climticas, do Instituto de Pesquisa
Ambiental da Amaznia (www.ipam.org.br); Mi-
nistrio da Cincia e Tecnologia (www.mct.gov.
br/clima); COPPE/URFM (www.coppe.ufrj.br).
VEJA TAMBM Energia no Brasil e no mundo
(pg. 340); O Brasil e a Mudana Climtica (pg.
365); Desafo do Sculo (pg. 373).
SOCIOAMBIENTAL
UMA PALAVRA S
O
B
R
A
S
I
L
E
A
M
U
D
A
N
A
C
L
I
M
T
I
C
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 365
MUDANA CLIMTICA
O BRASIL E A MUDANA CLIMTICA
MRCIO SANTILLI*
Mesmo no sendo um dos "responsveis histricos" pelo efeito estufa,
o Brasil afeta e afetado de vrias maneiras pelo aquecimento global
O efeito estufa um evento atmosfrico, de carter
planetrio, capaz de aumentar progressivamente a tempe-
ratura mdia da Terra, com o conseqente aumento do nvel
dos oceanos e a perturbao das condies climticas em
todos os continentes. O Brasil, dadas a sua grande extenso
territorial, sua extensa costa martima e a sua condio de
pas em desenvolvimento, que tem na agricultura uma
atividade econmica fundamental e detm a maior ex-
tenso de forestas, afeta e afetado de vrias maneiras
por este evento.
O Brasil no se inclui entre os pases considerados
responsveis histricos pelo efeito estufa e que, a partir da
revoluo industrial, emitiram a maior parte dos gases que o
provocaram e que o esto agravando. Com base no princpio
das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, apenas
os pases desenvolvidos, que integram a lista chamada
Anexo 1 da Conveno-Quadro sobre Mudana Climtica
Global da ONU, tero metas obrigatrias de reduo e
emisses durante o primeiro perodo de compromisso do
Protocolo de Quioto.
Aos demais pases signatrios desses instrumentos
de direito internacional, cabe contribuir para um esforo
comum de combater causas e efeitos do evento, sem que
disponham de imediato de metas obrigatrias de reduo
de emisses. Reconhece-se, assim, que os pases em de-
senvolvimento, tendo-se iniciado tardiamente no processo
de industrializao e sendo responsveis apenas pela parte
menor, e mais recentemente emitida, da concentrao ex-
cessiva de gases de efeito estufa na atmosfera, no merecem
comprometer as suas condies de desenvolvimento antes
A
N
D
R
V
I
L
L
A
S
-
B
A
S
/
I
S
A
Queimada de foresta no municpio de So Jos do Xingu (MT), 2003.
*Filsofo, foi deputado federal e presidente da Funai;
coordenador da Campanha 'Y Ikatu Xingu pelo ISA
O
B
R
A
S
I
L
E
A
M
U
D
A
N
A
C
L
I
M
T
I
C
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MUDANA CLIMTICA
366
que os prprios pases desenvolvidos tomem providncias
para reduzir essa concentrao.
Porm, o Brasil, assim como outros pases em desen-
volvimento como a China, a ndia e a Indonsia, ocupa uma
posio de destaque o quarto lugar no ranking dos
maiores emissores atuais de CO2 (dixido de carbono), o
mais abundante dos gases do efeito estufa, que liderado
pelos Estados Unidos, responsveis por cerca de 30% das
emisses globais e que se recusou a ratifcar o Protocolo
de Quioto e assumir metas obrigatrias de reduo. As
emisses atuais do Brasil representam entre 3% e 4% das
emisses globais.
Como no caso da Indonsia, e diferentemente dos casos
da China, da ndia e dos pases desenvolvidos, a composio
das emisses brasileiras invertida em relao composio
das emisses globais. Destas, cerca de 80% das emisses
decorrem da queima de combustveis fsseis (carvo,
petrleo e gs natural) e os outros 20% advm dos usos
inadequados da terra, com destaque para o desmatamento
e queima das forestas tropicais. No Brasil, cerca de 70% das
emisses decorrem do desmatamento (principalmente na
Amaznia) e de outros usos inadequado da terra. Os outros
30%, considera-se pouco representativos no contexto das
emisses globais por queima de combustveis fsseis, dada
a relativamente limpa matriz energtica brasileira, de fun-
damento hidreltrico (ver Matriz Energtica Brasileira,
pg. 344). Signifca que a maior contribuio que o Brasil
pode dar para a reduo das emisses globais reduzir
fortemente o desmatamento, sem prejuzo do que tambm
possa fazer em relao matriz energtica, que tende a se
VOC SABIA?
M
O Experimento de Grande Escala da Biosfera-
Atmosfera na Amaznia (LBA), liderado pelo
Brasil, uma iniciativa pioneira de pesquisa
internacional com o objetivo de aprofundar e
gerar novos conhecimentos sobre as interaes
entre a Amaznia e o sistema biogeofsico global
da terra, com foco na mudana climtica.
SAIBA MAIS LBA (http://lba.inpa.gov.br).
REDUO COMPENSADA PODE BRECAR DESMATAMENTO
PAULO MOUTINHO*
O desmatamento das forestas tropicais responde
por 20% das emisses anuais de dixido de carbono,
o principal gs de efeito estufa. Se as taxas atuais de
desmatamento no forem reduzidas rapidamente, a
perda contnua de forestas agravar o aquecimento do
Planeta. Por exemplo, se os ndices de desmatamento
somente do Brasil e da Indonsia permanecerem os
mesmos at 2012, as emisses por desmatamento
devero neutralizar cerca de 80% das redues de
emisses alcanadas pelo Protocolo de Quioto.
Um mecanismo como a Reduo Compensada pode-
ria incentivar, via compensao fnanceira, redues sig-
nifcativas do desmatamento. Se um pas demonstrasse
uma queda real nas suas taxas de desmatamento, abaixo
do ndice pr-estabelecido, receberia a compensao. A
Reduo Compensada do desmatamento um mecanis-
mo inovador, dirigido aos pases em desenvolvimento
que detm forestas tropicais; capaz de aumentar a
participao dessas naes no esforo global de reduo
de emisses de gases de efeito estufa, em troca de
benefcios econmicos e ecolgicos. Foi originalmente
proposto pelo Ipam durante a COP-9, realizada em
Milo em 2003. Atualmente, objeto de discusso pela
Conveno da ONU sobre Mudana Climtica e poder,
em breve, ser adotada por vrios pases tropicais.
VEJA TAMBM MDL contra o desmatamento
(pg. 94).
*Coordenador de pesquisas do Ipam
O
B
R
A
S
I
L
E
A
M
U
D
A
N
A
C
L
I
M
T
I
C
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 367
MUDANA CLIMTICA
EMISSES DE QUEIMADAS SO SUPERESTIMADAS
LIANA JOHN*
Nas negociaes internacionais sobre mudanas
climticas, para garantir informaes comparveis
nos acordos e documentos, houve necessidade de
uniformizar o clculo de emisses dos gases relacio-
nados ao aquecimento global. Devido falta de dados
e ausncia de condies para fazer levantamentos
extensivos na maioria dos pases tropicais, a frmula
resultante das negociaes considera como emisses
toda a rea desmatada e no apenas a rea onde
as rvores foram cortadas e depois efetivamente
queimadas, como seria mais realista.
Segundo o pesquisador Luiz Gylvan Meira Filho,
do Instituto de Estudos Avanados da Universidade de
So Paulo (IEA-USP), quando se trata de uma foresta
mida, como a amaznica, s h contribuio real de
gases para o efeito estufa se as rvores so integral-
mente queimadas. Isso porque o carbono contido nas
folhas, ramos e capins e emitido durante a queima
volta a ser absorvido no ano seguinte, quando as
plantas rebrotam e crescem, seja numa capoeira,
seja num reforestamento comercial (de seringueiras
ou teca, como tem sido feito no Mato Grosso e em
Rondnia) ou qualquer cultivo de plantas perenes. A
contribuio para as emisses dessa parcela de plantas
queimadas, portanto, zero, como acontece no caso
dos biocombustveis. S quando se queimam troncos e
galhos grossos, que representam estoques de carbono
de muitos anos, acumulados ao longo de toda a vida
da rvore, h emisses de fato.
Se, em lugar de ser queimada, a madeira aprovei-
tada para fabricao de mveis, portas, janelas, vigas de
construo, papel ou produtos semelhantes, o carbono
continua fxado. Para o Brasil e para pases que retiram
uma grande quantidade de madeira das forestas tro-
picais, como Malsia e Indonsia, a conta das emisses
de queimadas, portanto, superestimada.
*Jornalista, editora-executiva da revista Terra da Gente (EPTV)
liana@terradagente.com.br
Floresta queimada, na regio do Xingu (MT), 2004.
A
N
D
R
V
I
L
L
A
S
-
B
A
S
/
I
S
A
O
B
R
A
S
I
L
E
A
M
U
D
A
N
A
C
L
I
M
T
I
C
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MUDANA CLIMTICA
368
AS FLORESTAS CRESCEM ONDE CHOVE,
OU CHOVE ONDE CRESCEM FLORESTAS?
ANTONIO DONATO NOBRE*
Muitas evidncias indicam que a Amrica do Sul
a leste dos Andes teve razovel estabilidade climtica
por, pelo menos, 25 mil anos, possivelmente por mais
tempo. A extraordinria diversidade de vida acumulada
nas forestas dessa regio, incluindo a Amaznia, um
indicativo dessa estabilidade. Observa-se tambm que
a mega-fauna existente na Amrica do Sul no possui
em seu registro fssil animais com caractersticas simi-
lares aos grandes herbvoros pastadores da frica ou da
Amrica do Norte, o que poderia implicar que as savanas
por aqui no existiram por tempo sufcientemente longo
para a evoluo destes animais.
Esses indcios sugerem que, durante milhares ou
talvez mesmo milhes de anos, as forestas da Amrica do
Sul desenvolveram sua exuberante biota sem sinais de
terem sido desertifcadas ou congeladas por situaes de
climas extremos. Apesar disso, improvvel que durante
esse tempo todo as condies climticas planetrias
tenham sido sempre favorveis e benignas. Bruscas e
pesadas alteraes de temperaturas, ventos e chuvas,
possivelmente associadas a glaciaes e alteraes nas
correntes ocenicas, entre outros efeitos inevitveis,
chacoalharam o mundo com uma certa freqncia. A
pergunta ento : como esses biomas na Amrica do Sul
resistiram praticamente intactos possvel extino que
teria sido causada por essas adversidades externas?
As forestas tropicais esto entre os maiores, mais
diversos e complexos biomas do Planeta e novos estu-
dos mostram como elas possivelmente so potentes
elementos reguladores do clima, ao serem responsveis
pelo fuxo de umidade na forma de vapor para o interior
dos continentes, fazendo com que essas reas no sofram
variaes extremas de temperatura e tenham umidade
sufciente para promover a vida. Alm dos fenmenos
puramente fsicos, descobriram-se princpios ecolgicos
responsveis por parte importante do deslocamento de
massas de ar mido dos oceanos para os continentes, o
que permite o desenvolvimento da vida terrestre. Sob a
gravidade, inevitavelmente as terras emersas perdem
gua, que escorre dos rios para os oceanos. Assim, para as
* Pesquisador titular do Inpa, departamento de botnica (InpaMCT).
Buritizal no Rio das Pacas, municpio de Querncia (MT), 2007.
R
O
S
E
L
Y
A
L
V
I
M
S
A
N
C
H
E
S
/
I
S
A
O
B
R
A
S
I
L
E
A
M
U
D
A
N
A
C
L
I
M
T
I
C
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 369
MUDANA CLIMTICA
reas continentais se manterem midas, preciso ento
que essa perda pelos rios seja no mnimo compensada
com mecanismos que levem a umidade no sentido
inverso, ou seja, dos oceanos para as partes terrestres.
Estudos mostram que um fuxo puramente geofsico
de umidade oceano-continente em locais onde no h
forestas no alcanam algumas centenas de quilmetros
e que, portanto, as precipitaes diminuem exponen-
cialmente com a distncia do oceano. Porm, verifca-se
que as chuvas sobre forestas nativas no dependem da
proximidade com o oceano. Esta evidncia aponta para a
existncia de uma poderosa bomba bitica de umidade
em lugares como, por exemplo, a Bacia Amaznica.
Essa bomba consegue forar o fuxo de umidade do
oceano para o continente, fazendo-a chegar a milhares
de quilmetros no interior.
Os surpreendentes fundamentos fsicos dessa bom-
ba bitica de umidadeforam encontrados casualmente
em estudo terico sobre as propriedades e comportamen-
to do vapor de gua na atmosfera. De acordo com esses
estudo, o ar nas camadas mais baixas da atmosfera se
move das reas com pouca evaporao para reas onde a
evaporao mais intensa. Devido a grande e densa rea
de folhas, que so evaporadores otimizados, as forestas
naturais mantm altos ndices de evaporao, maiores at
que em superfcies aquticas como os oceanos, fazendo
com que a foresta sugueo ar mido de oceanos circun-
dantes, como uma grande bomba. O dilema do ovo ou da
galinha, ou seja, se as forestas crescem onde chove, ou se
chove onde crescem as forestas, resolve-se, assim, sem
ambigidades: onde tem mata, tem chuva!
Mas ser que esse potente mecanismo de transporte
que h milhares, talvez milhes, de anos tem se mostrado
estvel continuar funcionando com o aquecimento glo-
bal, dado que agora o desmatamento das forestas reduz
o tamanho da bomba bitica de umidade? Poderamos
supor que esses ecossistemas, caso estivessem preserva-
dos e intactos, teriam a capacidade de resistir aos cenrios
devastadores previstos para o Planeta com a mudana
climtica. Mas no precisa ser sbio para suspeitar que
a habilidade da Amaznia e outras forestas tropicais em
regular a chuva e resistir a mudanas climticas esteja sob
grande ameaa com sua destruio avanada.
Cenrios que levam em considerao a relao entre
a atmosfera, os oceanos e a vegetao no contexto atual
de altas e crescentes taxas de emisso de gs carbnico na
atmosfera (com o conseqente aumento do efeito estufa
e da temperatura do Planeta) mostram que o sistema
regulador das chuvas e do clima na Amaznia e outras
forestas pode entrar em colapso. Mudanas progressivas
nos fuxos de correntes de ar e umidade decorrentes do
aumento da temperatura do Planeta, como as que resul-
taram no El Nio, podem criar contnuas estaes secas
sobre reas considerveis. De outro lado, o desmatamento
e a fumaa das queimadas podem efetivamente diminuir
a potncia das forestas como bombas biticas de vapor.
Portanto, forestas reduzidas e fragmentadas pela ao do
homem no podero sobreviver alm de alguns anos ao
aquecimento global. Talvez sejamos testemunhas, ainda
no decorrer de nossas vidas, da destruio da integridade
desses biomas, incluindo a Amaznia. As mesmas forestas
que sobreviveram s eras glaciais no tempo geolgico po-
dem no resistir s queimadas e motosserra de algumas
poucas dcadas de ao humana.
SAIBA MAIS (www.biotic-regulation.pl.ru).
VOC SABIA?
M
Cada rvore grande na Amaznia chega
a transpirar 300 litros de gua por dia.
M
Na Amaznia inteira, 20 bilhes de
toneladas de gua so transpirados a cada
dia pelas rvores (o poderoso Rio Amazonas
despeja no oceano Atlntico apenas 17
bilhes de toneladas de gua por dia).
M
A energia do Sol consumida nesta trans-
pirao de somente um dia equivalente
produo total de eletricidade na usina de
Itaipu ao longo de 145 anos!
O
B
R
A
S
I
L
E
A
M
U
D
A
N
A
C
L
I
M
T
I
C
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MUDANA CLIMTICA
370
tornar menos limpa e mais dependente de combustveis
fsseis (ver Desmatamento, pg. 276).
Conseqncias
Do outro lado do problema, o das suas conseqncias,
tambm h o que dizer sobre os impactos atuais e futuros
sobre o Brasil. O Furaco Catarina, o primeiro do gnero
ocorrido no hemisfrio sul, em 2004, e a forte seca que
afetou o sul da Amaznia em 2005 so indicaes recentes
de provveis conseqncias do aquecimento global. Os
cientistas prevem ameaas de desertifcao no semi-rido
nordestino, savanizao na Amaznia Oriental, alteraes
nos ciclos de chuva na Amaznia, com impactos sobre outras
regies (como o Sul e o Sudeste, alm do Paraguai, Uruguai
e norte da Argentina), inclusive nas principais reas agrcolas
e urbanas do Pas. Prevem, ainda, forte impacto sobre as
ilhas ocenicas e sobre toda a costa atlntica, afetando as
praias, os manguezais, as cidades e as populaes litorneas,
em decorrncia do aumento do nvel do mar. A temperatura
mdia no Brasil deve aumentar em cerca de 3 graus centgra-
dos, mas em algumas regies do Nordeste e da Amaznia,
esse aumento deve chegar a 5 graus, no decorrer deste
sculo. Diversos setores da economia seriam atingidos, alm
dos recursos naturais e da biodiversidade, devendo ocorrer
migraes em massa. O sinal no alentador.
Polticas e metas
O Brasil precisa ter polticas consistentes e metas pr-
prias para reduzir as suas emisses, independentemente do
momento que julgue apropriado submet-las comunidade
internacional, pois tambm do seu interesse, assim como
de outros pases em desenvolvimento e da humanidade
em geral, evitar ou mitigar as conseqncias das mudanas
climticas. E precisa, mais ainda, dispor de polticas para
proteger as populaes e as partes do seu territrio sob
maior risco diante dos eventos climticos j presentes e que
se agravaro no futuro prximo.
Os pases em desenvolvimento devero arcar com a
maior parte do impacto e do custo das mudanas climticas.
So os que dispem de expressivos contingentes de pessoas
pobres vivendo em reas de risco e os que menos dispem
de recursos prprios para reagir s ocorrncias climticas ex-
tremas. Sendo, ainda, que as suas economias esto voltadas
para o mercado internacional, de que todas as economias
nacionais esto cada vez mais interdependentes. uma
necessidade, de interesse geral, que os pases desenvolvidos
compartilhem os custos dos impactos e da adaptao dos
pases em desenvolvimento em decorrncia da mudana
climtica. Ao mesmo tempo, esses ltimos podem ajudar
os primeiros a reduzir custos para o cumprimento das suas
metas obrigatrias de reduo de emisses.
Oportunidades
A vem um terceiro nvel de relao entre o Brasil e a
questo da mudana climtica: o das oportunidades. Por
enquanto, o nico instrumento de direito internacional que
possibilita a insero dos pases em desenvolvimento no
esforo global para reduzir emisses o MDL, Mecanismo
EMISSES BRASILEIRAS DE CARBONO PARA A ATMOSFERA
Fonte: Houghton, R.A, D. Skole; C. Nobre. 2000. Anual fuxes of carbon from deforestation and regrowth in the Brazilian Amazon. Nature, 403:301-304.
30% 70%
QUEIMA DE
COMBUSTVEL
MUDANA DE
USO DO SOLO
O
B
R
A
S
I
L
E
A
M
U
D
A
N
A
C
L
I
M
T
I
C
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 371
MUDANA CLIMTICA
ZONAS CLIMTICAS
Emerson Galvani*
Considerando a grande extenso do territrio brasileiro, natural encontrarmos grande diversidade
de tipos climticos, desde quentes e secos a climas frios e midos
Laboratrio de Geoprocessamento do ISA, 2004. Fonte: Mapa Brasil Climas -
Escala 1:5.000.000, IBGE, 1978, com adaptaes.
A diversidade de tipos climticos no Brasil,
alm da grande extenso do territrio, tambm
sofre influncia das diferentes altitudes do relevo
no territrio (variao altimtrica), prximas de 0
metro em grande extenso da plancie litornea,
at 3.014 metros no Pico da Neblina (no Amazonas).
No bastasse a variao latitudinal (norte a sul) e
altimtrica, tambm se alia a esses fatores o efeito
da maritimidade/continentalidade, pela presena de
extensa massa de guas a leste do continente (Oceano
Atlntico). Por exemplo, a amplitude trmica mdia
no ms de julho em Salvador (Bahia) de 4,8 C (pro-
ximidade do oceano efeito da maritimidade) e em
Cuiab (Mato Grosso) de 15,2 C (maior distncia do
oceano continentalidade). Vale lembrar que ambas
as localidades esto em latitudes prximas. Alm disso,
a dinmica de circulao atmosfrica faz com que
massas de ar transportem as caractersticas das regies
de origem para outras regies, a exemplo da massa
polar atlntica que, predominantemente nos meses do
inverno, avana pelo centro-sul do Brasil, promovendo
redues signifcativas da temperatura do ar.
As classifcaes climticas podem ser efetuadas por
meio de ndices climticos ou baseando-se na paisagem
natural. O segundo critrio baseia-se no fato de a vege-
tao ser um integrador dos estmulos do meio ambiente
(ou seja, a vegetao refete outras caractersticas do
meio) e serviu de base para as primeiras classifcaes,
quando ainda no havia registros dos elementos do
clima em grande parte do territrio, princi-
palmente nas regies geogrfcas
do Centro-Oeste, Norte e parte
ocidental do Nordeste. Qual
seria a classifcao que melhor
integra todos esses fatores e ele-
mentos do clima? Para resolver esse
embate, o Almanaque Brasil Socioam-
biental optou pelo uso da classifcao das
unidades climticas brasileiras proposta
pelo IBGE, o que no signifca, ainda, que
seja a melhor, ou a nica importante.
SAIBA MAIS Centro Integrado de Informaes
Agrometeorolgicas (www.ciiagro.sp.gov.br/).
ZONAS CLIMTICAS BRASILEIRAS
*Gegrafo, mestre em Agrometeorologia pela Esalq/USP, doutor em Energia na
Agricultura pela Unesp e professor do Departamento de Geografa da USP
* egalvani@usp.br
O
B
R
A
S
I
L
E
A
M
U
D
A
N
A
C
L
I
M
T
I
C
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MUDANA CLIMTICA
372
de Desenvolvimento Limpo, um dos trs mecanismos de
compensao institudos pelo Protocolo de Quioto, pelo
qual os pases desenvolvidos podem compensar redues
obrigatrias (de 5,2%, em mdia, em relao aos nveis de
emisso de 1990), que no tenham sido realizadas nos seus
territrios, atravs do fnanciamento de projetos, dentro do
mercado do carbono, que possam obt-las em pases em
desenvolvimento.
O Brasil tem chance de disputar uma boa parte dos
recursos disponveis para o MDL. No se sabe ao certo
qual ser o tamanho efetivo deste mercado, mas o Pas
tem capacidade instalada para formular bons projetos.
J tem uma participao signifcativa na lista de projetos
submetidos aprovao no MDL, especialmente para con-
verter lixes a cu aberto em aterros sanitrios, reduzindo
emisses de metano e de outros gases estufa. So possveis,
ainda, projetos de substituio de fontes energticas mais
poluentes e de seqestro de carbono (que vale menos no
mercado, devido a riscos e a seu efeito apenas temporrio
para atmosfera) atravs do reforestamento. O Pas tam-
bm poder auferir benefcios atravs da cooperao em
transferncia de tecnologia e fomento pesquisa cientfca
associada ao tema.
No entanto, projetos que visem reduo do desma-
tamento, maior componente das emisses brasileiras, no
so elegveis segundo as regras de funcionamento do MDL
durante o primeiro perodo de compromisso do Protocolo,
entre 2008 e 2012. A diplomacia brasileira ops-se elegi-
bilidade destes projetos (alegando vrias objees mas...)
temendo que a sua incluso e o prprio tratamento da
questo do desmatamento no contexto da Conveno do
Clima (ver Acordos Internacionais, pg. 477) exponha
o Pas a maior presso da comunidade internacional em
decorrncia das suas altas taxas de desmatamento. Foi
um tiro no p, pois o Brasil no poder fazer valer a sua
principal fonte de emisses para aumentar o seu espao
no mercado de carbono ou compartilhar os custos para
reduzir o desmatamento e dar a sua melhor contribuio
para enfrentar a crise climtica.
J esto em curso as negociaes internacionais para
defnir as regras que devero orientar a Conveno, o Pro-
tocolo e o mercado de carbono a partir de 2012. O primeiro
perodo de compromisso j comea em 2008 e as suas
viabilidade e efetividade dependem da perspectiva de conti-
nuidade dos esforos globais por reduo de emisses. Nesse
contexto, j h uma agenda ofcial da ONU para discutir a
incluso nas regras internacionais de algum instrumento
que permita estimular a reduo do desmatamento. Mas
so pequenos pases, liderados por PapuaNova Guin,
que esto frente das negociaes pelo lado dos pases
em desenvolvimento.
O Brasil apresentou uma proposta para que redues
de emisses por desmatamento sejam compensadas atravs
de doaes para o fundo, sem vnculo com o mercado de
carbono e pouco interessante para potenciais fnanciadores
dessa compensao, pois no lhes permitiria reduzir os cus-
tos para cumprir as suas metas obrigatrias, que precisam
ser aumentadas para garantir a continuidade do processo de
Quioto. A diplomacia brasileira superou a objeo anterior
discusso sobre desmatamento nas negociaes inter-
nacionais, mas no avanou o sufciente para aproveitar a
oportunidade de consolidar algum instrumento especfco
que amplie a sua insero nos esforos (e nas suas oportu-
nidades) para a reduo das emisses globais.
O Brasil tem grande necessidade e potencialidade para
exercer maior protagonismo nas negociaes que defniro
as regras do ps 2012. A necessidade advm dos riscos e
h potencialidade da sua extenso territorial (e de rea
plantvel), das suas reservas de guas e de forestas, mas
tambm da disponibilidade de recursos para enfrentar os
seus maiores problemas correlatos crise climtica, inclu-
sive as suas altas taxas de desmatamento. O Pas precisa
dotar-se de melhores condies para enfrentar as causas
e as conseqncias da mudana climtica e para participar
das estreitas oportunidades. Sem essas condies, arcar
com custos e impactos maiores e com o risco de fragilizar
sua posio poltica ao negar-se ou no conseguir fazer a
sua parte.
VEJA TAMBM Mudana Climtica nos Am-
bientes (pginas 70, 95, 110, 138, 147, 173, 192,
196); Mudana Climtica Global (pg. 358); O
IPCC e a Mudana Climtica (pg. 360); Desafo
do Sculo (pg. 373).
D
E
S
A
F
I
O
D
O
S
C
U
L
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 373
MUDANA CLIMTICA
DESAFIO DO SCULO
SRGIO CORTIZO*
O relatrio da ONU sobre mudanas climticas publicado em 2007 alertou o mundo
para a gravidade da situao do Planeta e para a necessidade urgente de medidas
de mitigao do efeito estufa. Mas o que tem que ser feito?
*Fsico, doutor em Filosofa e consultor em mudanas climticas e energia
* contato@sergio.cortizo.nom.br
A resposta simples e bem conhecida h mais de dez
anos: temos que reduzir as emisses de gases-estufa pra-
ticamente zero, a fm de estabilizar as concentraes desses
gases na atmosfera.
Quando perguntamos quanto tempo temos para agir,
devemos ter em mente a inrcia do sistema climtico: as
conseqncias do efeito estufa s se tornam aparentes dcadas
depois de suas causas. Assim, se esperarmos as coisas fcarem
realmente ruins para ento agir, j ser tarde demais. Se as
emisses no forem restringidas nos prximos dez ou vinte
anos, as concentraes atingiro nveis absurdamente altos
(os nveis atuais j so sem precedentes nos ltimos 650 mil
anos) e o desastre ser inevitvel.
Mas por que to difcil reduzir as emisses de gases
estufa? A resposta tambm simples: isso implicaria em reduzir
toda a atividade econmica do mundo a uma pequena parte
do que ela hoje. No grfco abaixo esto indicadas as fontes
primrias da energia consumida no mundo em 2004. Cerca de
80% da energia primria provm da queima de combustveis
fsseis: carvo mineral, petrleo e gs natural. Assim como um
carro no funciona sem combustvel, e um brinquedo eltrico
no funciona sem pilha, o sistema econmico mundial no
funciona sem uma fonte de energia.
Como a queima de combustveis fsseis responsvel
por mais da metade das emisses de gases-estufa, podemos
colocar assim o problema: em 10 ou 20 anos, no mximo, temos
que substituir a fonte primria de 80% da energia consumida
no mundo. Sem contar as muitas difculdades para a reduo
das emisses de gases-estufa originadas de outros processos
econmicos, como a agropecuria e o manejo do lixo.
A Revoluo Industrial se iniciou no sculo XIX com a quei-
ma de carvo mineral. Todo o processo de industrializao da
Europa e dos EUA ao longo do sculo XX foi baseado na queima
de carvo, petrleo e gs natural. O dixido de carbono, o prin-
cipal dos gases-estufa, permanece na atmosfera por sculos.
Estima-se que cerca de um tero do CO
2
emitido ao longo dos
ltimos 200 anos ainda est concentrado na atmosfera, sendo
responsvel por boa parte do efeito estufa atual.
OFERTA TOTAL DE ENERGIA PRIMRIA EM 2004
Fonte: IEA (Agncia Internacional de Energia)
D
E
S
A
F
I
O
D
O
S
C
U
L
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MUDANA CLIMTICA
374
"PLANTAR RVORES" S NO BASTA
BETO RICARDO* E RICARDO SALGADO**
indispensvel que pessoas, empresas, outras
instituies e governos adotem prticas sustentveis e
medidas concretas para reduzir, mitigar ou compensar
emisses. H vrias iniciativas positivas que podem
contribuir para atenuar a crise climtica e louvvel que
essas medidas e os seus resultados sejam divulgados e
reconhecidos. Porm, aqueles que tm compromisso
efetivo com a causa climtica, e no apenas uma inteno
de marketing fcil, no precisam e no devem recorrer a
afrmaes falsas, como a de que neutralizaramas suas
emisses sem que isto j tenha efetivamente ocorrido.
O plantio de rvores uma das alternativas para
compensar emisses. Mas se uma empresa emite gases
atravs da queima de combustveis fsseis, estas emisses
estaro imediatamente contribuindo para o aumento da
concentrao, j excessiva, desses gases na atmosfera
terrestre. E o crescimento das rvores seqestrar
carbono lentamente, no decorrer de dcadas, at que
elas atinjam a sua idade madura. Portanto, nesse caso,
a compensao de emisses s ocorrer no longo prazo,
enquanto estas tero ocorrido de imediato. Qualquer
incidente que acontea nesse longo perodo, de modo
a comprometer o crescimento das rvores, implicar na
no-compensao das emisses j realizadas.
Portanto, projetos de reforestamento que visem
compensao de emisses precisam ser devidamente
monitorados ao longo de todo o perodo de crescimento
das rvores, e somente ao seu fnal se poder afrmar
que a compensao, ou neutralizao das emisses
passadas, efetivamente se deu.
Alm disso, se o plantio realizado no gerar uma
foresta que seja capaz de se reproduzir naturalmente,
em algum momento as rvores, mesmo j crescidas,
morrero e o carbono seqestrado retornar at-
mosfera na medida em que a sua massa forestal se
decompuser, ou imediatamente, caso esta massa seja
queimada. Somente forestas permanentes podem
repor a massa vegetal perdida com a morte das esp-
cies mais antigas. Em outra hiptese, a compensao
de emisses ser apenas temporria, enquanto estas
tero sido defnitivas.
Embora qualquer iniciativa que possa contribuir para
atenuar a crise climtica seja positiva, inclusive atravs do
plantio de rvores, a eventual publicidade enganosa que
afrme uma neutralizao de emisses no ocorrida,
estar prestando um desservio causa. Se vier a ser
objeto de denncia, produzir um efeito negativo para
a credibilidade dos atores envolvidos e para a formao
de conscincia social relativa crise climtica.
Empresas e instituies que decidam contribuir
efetivamente para o combate ao efeito estufa precisam
mais do que uma estratgia de marketing e no podem
se limitar execuo de projetos pontuais, ou delegar
a terceiros uma responsabilidade que sua. Devem
construir parcerias de longo prazo, pois longo ser
este combate, e defnir polticas permanentes visando
reduzir as suas emisses, compensar aquelas que
no sejam passveis de reduo imediata e mobilizar
fornecedores e clientes para que faam o mesmo,
despoluindo cadeias produtivas, sistemas de servios
e redes de cooperao a que pertenam.
Para tanto, podem e devem recorrer ao plantio de
rvores e, sempre que possvel, contribuir para que este
plantio possa agregar outros valores socioambientais,
melhorar as condies de vida dos que participam desse
trabalho e prestar outros servios ambientais, como pro-
teger fontes e cursos dgua, a biodiversidade, o solo, a
qualidade do ar. O clima tambm depende desses valores
e servios e a questo da concentrao de gases-estufa
apenas uma das suas dimenses. Devem, ainda, con-
siderar outros tipos de projetos, como de erradicao de
lixes, substituio de pastagens, economia de energia,
simplifcao de embalagens, e tantos outros que possam
potencializar ou complementar os seus efeitos.
* Antroplogo, secretrio executivo do ISA
** Diretor superintendente do Instituto Terra
D
E
S
A
F
I
O
D
O
S
C
U
L
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 375
MUDANA CLIMTICA
ZOOM
NEUTRALIZAO NOS EVENTOS PAULISTANOS
LIANA JOHN*
Neutralizao de carbono todo tipo de medida no-ofcial para compensar emisses de gases do
efeito estufa. Inclui o clculo das emisses de um evento ou uma atividade, que convertido em rvores a
serem plantadas e mantidas, voluntariamente, por indivduos, organizaes no-governamentais (ONGs)
ou empresas. Tais compensaes no entram no mercado de carbono como projetos do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL); no so consideradas nos relatrios nacionais; nem so reguladas pelo
Protocolo de Quioto. Mas, de fato, retiram carbono da atmosfera, sobretudo se as rvores so mantidas e
monitoradas, e continuam vivas e crescendo por muitos anos. Como benefcio adicional, se bem orientada
e implementada, a neutralizao signifca a injeo de recursos fnanceiros (antes no disponveis) em
projetos de recuperao de matas ciliares, reforestamento com essncias nativas, enriquecimento de
fragmentos forestais e formao de corredores de biodiversidade.
Em So Paulo, o ano de 2007 comeou com a neutralizao vo luntria de carbono em alguns eventos
cuja temtica no est relacionada a meio ambiente, como a Couromoda (janeiro), o Carnaval e a So Paulo
Fashion Week (ambos em fevereiro). A repercusso positiva das iniciativas, na mdia e junto ao pblico,
motivou a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente a transformar as iniciativas pontuais em regra. E,
em 24 de maro, passou a vigorar a portaria 06/SVMA.G/2007, que torna obrigatria a compensao de
emisses de carbono de todo evento shows, concertos, exposies realizado nos parques municipais
da cidade. De carona na neutralizao, a portaria tambm determina o manejo adequado dos resduos
slidos, condicionando o compromisso ambiental aos licenciamentos dos eventos.
*Jornalista, editora-executiva da revista Terra da Gente (EPTV) * liana@terradagente.com.br
www.yikatuxingu.org.br
Uma campanha de responsabilidade socioambiental
compartilhada em defesa das nascentes do Xingu
www.institutoterra.org.br
A Mata Atlntica precisa sobreviver e multiplicar-se
D
E
S
A
F
I
O
D
O
S
C
U
L
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MUDANA CLIMTICA
376
OS BIOCOMBUSTVEIS
LIANA JOHN*
Biocombustveis so combustveis renovveis produ-
zidos a partir de cana-de-acar, beterraba, milho, soja,
dend, mamona e outras oleaginosas cultivadas, para
adio aos derivados de petrleo, ou sua substituio.
Contribuem para a reduo das emisses de gases do
efeito estufa sobretudo dixido e monxido de carbono
porque so produzidos a partir de plantas anuais (cana,
milho, soja etc.) ou dos frutos de plantas perenes (como
andiroba ou dend e outras palmeiras).
As plantas absorvem carbono do ar ao realizarem
a fotossntese. O carbono a principal matria-prima
das folhas, caules, fores e frutos. Enquanto a planta
cresce ela est fxando carbono. Uma vez colhida e
convertida em etanol (cana, beterraba e milho) ou
biodiesel (oleaginosas), a planta deixa de incorporar
carbono, mas ainda o mantm fixado. Quando o
combustvel queimado em veculos ou geradores
de energia o carbono volta a ser emitido, ou seja, vai
para atmosfera. A diferena dos biocombustveis em
relao aos derivados de petrleo, quanto ao carbono,
o balano de emisses. Enquanto o carbono do etanol
ou do biodiesel emitido pelos motores, a mesma
quantidade de carbono absorvida pela nova safra que
est crescendo no campo. Na soma fnal, o balano
prximo de zero. J no caso dos derivados de petrleo,
as emisses correspondem a 100%, pois tudo que
queimado vem de reservas fsseis estocadas no subsolo
ou no fundo do mar. Sem a interferncia do homem,
difcilmente esse carbono chegaria atmosfera.
Vale ressaltar que o conceito de biocombustvel
restringe-se, por enquanto, ao balano entre a fxao de
carbono e sua emisso, sem considerar gases poluentes
ou demais impactos ambientais da agricultura para fns
energticos (ver Poluio Urbana, pg. 405).
*Jornalista, editora-executiva da revista Terra da Gente (EPTV)
* liana@terradagente.com.br
Usina de biodiesel em Barra do Bugres (MT), 2007.
J
O
R
G
E
N
B
R
A
A
S
T
A
D
D
E
S
A
F
I
O
D
O
S
C
U
L
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 377
MUDANA CLIMTICA
Existem outras fontes de energia e tecnologias para se-
rem exploradas (hidreltrica, solar, elica, biocombustveis),
mas todas so mais caras do que os combustveis fsseis
(caso contrrio j seriam mais usadas). Assim, mesmo os
pases desenvolvidos teriam um custo econmico conside-
rvel ao substituir sua principal fonte de energia primria.
Esse o motivo real da recusa dos EUA (atualmente o maior
emissor de gases-estufa do Planeta) em assinar o Protocolo
de Quioto e a razo dos sucessivos adiamentos e fracassos
de todas as iniciativas diplomticas visando ao estabeleci-
mento de metas concretas de reduo das emisses globais
de gases-estufa.
A situao dos pases que esto apenas iniciando seu
processo de industrializao muito mais crtica: abrir mo
dos combustveis fsseis (a fonte mais barata de energia) pode
signifcar praticamente a renncia ao progresso econmico.
A China, por exemplo, tem contribudo para a disparada das
emisses globais de gases-estufa nos ltimos anos e em breve
PAS PRECISA SE ADAPTAR NOVA REALIDADE
LUIS PIVA*
Em grande medida, no possvel evitar as
conseqncias da mudana climtica - os impactos
sero negativos em geral. H portanto que se fazer
um esforo para se adaptar a elas e, para o Brasil, isso
implica na adoo de polticas pblicas e medidas que,
no nosso caso, no representam em geral um nus para
nossa competitividade industrial, mas sim novas opor-
tunidades ao uso de biomassa renovvel e s formas
sustentveis de relao com o meio ambiente:
M
No caso das forestas, o Brasil precisa assumir
sua responsabilidade por ser o quarto maior emissor
de gases de efeito estufa e se comprometer com a
reduo de suas principais fontes de emisso de gs
carbnico: o desmatamento e as queimadas (ver
Queimadas, pg. 283). Para isso, pode implementar
sistemas de monitoramento por satlite em todos os
biomas e investir na fscalizao ambiental; expan-
dir reas protegidas e desenvolver mais polticas de
incentivo aos que mantm reas protegidas em suas
propriedades (ver Zoom, pg. 152).
M
Quanto desertifcao, no Semi-rido, o Pro-
grama de Ao Nacional de Combate Desertifcao
precisa estar integrado a uma Poltica Nacional de
Mudana Climtica (ver Caatinga, pg, 110).
M
A populao brasileira das reas costeiras precisa
ser orientada para a ocorrncia de ciclones, tornados
e furaces; bem como precisa ser desenvolvido um
amplo planejamento urbano para prevenir e adaptar
as cidades s mudanas provocadas pela elevao do
nvel do mar (ver Zona Costeira, pg. 196).
M
O calendrio agrcola precisa ser adaptado s
alteraes climticas para o adequado planejamento
do plantio. preciso incentivar a diversifcao de
culturas e o uso de cultivares de ciclos diferentes (e
no apenas monoculturas como soja, caf e cana-de-
acar) para garantir a segurana alimentar sem
pressionar a fronteira agrcola no Cerrado e na Ama-
znia (ver Agricultura Sustentvel, pg. 414).
M
Para atenuar a vulnerabilidade dos recursos h-
dricos, as bacias hidrogrfcas devem ser gerenciadas
de forma integrada; mtodos para gerenciar melhor
o consumo de gua e reduzir o desperdcio devem
ser implementados; e projetos de usinas hidreltricas
que prejudiquem a vazo dos rios e causem impacto
ambiental devem ser descartados (ver Carto Pos-
tal Ameaado: Parque Indgena do Xingu, pg.
278, e Rio Ribeira de Iguape, pg. 300).
SAIBA MAIS Mudana do Clima, Mudana de Vi-
das. Como o aquecimento Global j afeta o Brasil.
So Paulo: Greenpeace, 2006 (www.greenpeace.
org.br/clima/flme/home).
VEJA TAMBM Campanhas (pg. 501).
*Coordenador da Campanha de Clima do Greenpeace
D
E
S
A
F
I
O
D
O
S
C
U
L
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MUDANA CLIMTICA
378
COMO POSSO AJUDAR?
No so apenas os governos ou as grandes empresas que podem colaborar com a diminuio dos efeitos das
mudanas climticas (ver Responsabilidade Socioambiental Corporativa, pg. 452). Cada pessoa, com
atitudes cotidianas, tambm pode ajudar muito, se fzer a sua parte:
M
Informe-se, procure entender as causas da mudana climtica, suas conseqncias para o Planeta e di-
vulgue o tema em sua comunidade ou regio. Promova debates e discusses sobre o que precisa ser feito.
M
Evite e denuncie desmatamentos. Respeite as leis ambientais em sua propriedade, mantendo a Reserva
Legal e as reas de Proteo Permanente, reforestando as reas quando necessrio.
M
Economize energia. Troque lmpadas incandescentes por lmpadas fuorescentes. Apague as luzes nos
locais que no esto sendo usados e desligue os aparelhos em desuso. Compre aparelhos mais efcientes no
consumo de energia (ver Energia no Brasil e no Mundo, pg. 340).
M
Deixe o carro na garagem e utilize transporte coletivo e a bicicleta. D preferncia a combustveis de
transio, como lcool e biodiesel (ver Transporte Urbano, pg. 409).
M
Informe-se sobre habitaes ecolgicas que aproveitam a gua da chuva, usam energia solar para ilumi-
nao e aquecimento e oferecem climatizao natural (ver Construo e Sustentabilidade, pg. 392).
SAIBA MAIS Mudana do Clima, Mudana de Vidas. Como o aquecimento Global j afeta o Brasil. So Paulo:
Greenpeace, 2006 (www.greenpeace.org.br/clima/flme/home).
VEJA TAMBM Campanhas (pg. 501).
deve se tornar o maior emissor do mundo: para sustentar seu
vertiginoso crescimento econmico, os chineses tm investido
pesadamente em usinas termoeltricas movidas a carvo
mineral (o pior dos combustveis fsseis: o que emite mais
poluio para cada unidade de energia gerada).
Uma soluo "civilizada" para o problema da reduo
das emisses globais seria um tratado internacional que
constitusse um "Mercado Internacional de Carbono", no qual
cotas mximas de emisso de gases-estufa para cada pas do
mundo ao longo das prximas dcadas seriam estabelecidas
de comum acordo, permitindo que aqueles que cumpriram
suas metas com folga possam vender suas cotas restantes aos
pases que tiveram difculdade em cumprir suas obrigaes
assumidas. O objetivo desse comrcio de cotas de poluio seria
reduzir os custos econmicos globais do processo. Um embrio
desse mercado j foi institudo pelo Protocolo de Quioto, mas
com metas insufcientes de reduo das emisses globais de
gases-estufa. No entanto, o "jogo de foras" entre os pases
ricos e as naes em desenvolvimento tem sido, e provavel-
mente continuar a ser, um srio obstculo assinatura de
um tratado internacional para a reduo das emisses. De um
lado, os pases desenvolvidos tm se eximido de sua inegvel
responsabilidade histrica pelas concentraes atuais de gases-
estufa; do outro, os pases pobres parecem no estar dispostos
a "pagar a conta" por um problema que no criaram.
Esse foco de tenso nas relaes internacionais deve se
agravar com os impactos futuros das mudanas climticas,
trazendo tona ressentimentos histricos e injustias secula-
res, como a colonizao e a explorao da sia, da frica e da
Amrica pela Europa, fundamentada na violncia e no poder
militar. Nesse contexto histrico e geopoltico, tudo aponta
para uma protelao por tempo indeterminado dos esforos de
reduo das emisses globais de gases-estufa. At, claro, que
a natureza decida o jogo com suas cartas imbatveis.
VEJA TAMBM Energia no Brasil e no Mundo
(pg. 340); Combustveis (pg. 348); Mudana
Climtica Global (pg. 358); O Brasil e a Mudana
Climtica (pg. 365).
CIDADES
Urbanizao, pg. 380
Arquitetura, pg. 391
Enchentes, pg. 395
Habitao, pg. 396
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 379
Os brasileiros abandonaram o campo e correram para as cidades. Em 40 anos, entre
1960 e 2000, aqueles que viviam nas cidades passaram de 40% para 80%, ao mesmo
tempo em que a populao total crescia de cerca de 80 milhes para 180 milhes. Isso
concentrou nos centros urbanos um contingente que eles no estavam preparados
para receber. Como mostra este captulo sobre Cidades, as metrpoles agravaram
seus problemas e mais ainda suas caractersticas de injustia, deixando s para os
ricos infra-estrutura e equipamentos pblicos e excluindo os pobres desses confor-
tos. Com aglomeraes cada vez maiores, problemas como poluio, destinao do
lixo, carncias habitacionais, riscos de enchentes e falta de um transporte pblico
efciente se tornam ainda mais dramticos. Ao mesmo tempo, a especulao imo-
biliria afasta ainda mais os pobres das zonas centrais, com conseqncias nefastas
tambm para as reas que deveriam ser destinadas preservao ambiental, que
acabam se tornando estoques para ocupao dos mais pobres.
Lixo, pg. 398
Poluio Urbana, pg. 405
Transporte Urbano, pg. 409
Cidades Sustentveis, pg. 410
U
R
B
A
N
I
Z
A
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
CIDADES
380
URBANIZAO
RENATO CYMBALISTA*
Mais do que evocar progresso ou desenvolvimento, as cidades brasileiras
reproduzem as injustias e desigualdades da sociedade
*Arquiteto e urbanista, coordenador do Ncleo de Urbanismo do Instituto Plis
e professor da Escola da Cidade
A rpida urbanizao pela qual passou a sociedade
brasileira foi uma das principais questes sociais do Pas no
sculo XX. Enquanto em 1960 a populao urbana represen-
tava pouco mais de 40% da populao total, esse nmero
ultrapassa os 80% atualmente. Em nmeros absolutos, em
40 anos (1960 a 2000), a populao urbana aumentou de
31 milhes para 137 milhes.
A urbanizao vertiginosa coincidiu com o fm de um
perodo de maior expanso da economia brasileira, intro-
duzindo um novo e dramtico quadro para as cidades: mais
do que evocar progresso ou desenvolvimento, elas passam
a retratar e reproduzir de forma exemplar as injustias
e desigualdades da sociedade.
No incio do sculo XXI, o processo de urbanizao j
comea a perder velocidade, mas a desigualdade e a pobreza
so um fato nas nossas cidades. Isso apresenta-se de vrias
formas: imensas diferenas entre as reas centrais e as
periferias das regies metropolitanas; ocupao precria do
mangue em contraposio alta qualidade dos bairros da
orla nas cidades de esturio; a eterna linha divisria entre o
morro e o asfalto. Esses territrios to desiguais relacionam-
se com vrias outras formas de injustia social. Em geral, a
cidade divide-se entre uma poro legal, rica, provida de
infra-estrutura e de equipamentos pblicos, e outra, ilegal,
pobre, precria e desprovida de investimentos pblicos.
medida que moram e transitam nos locais desqualif-
cados, violentos e com poucos empregos na cidade, os mais
pobres acabam tendo pouco acesso s oportunidades de
trabalho, cultura e lazer que a cidade oferece. Por outro lado,
aqueles que conseguem viver do lado de dentro (em geral
Bairro Vista Alegre, prximo Serra da Cantareira, Zona Norte da cidade de So Paulo, 2001.
L
A
L
O
D
E
A
L
M
E
I
D
A
U
R
B
A
N
I
Z
A
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 381
CIDADES
CIDADE E MEIO AMBIENTE
FERNANDO GABEIRA*
* Jornalista e Deputado Federal
H cidades do mundo onde at as compras gover-
namentais so examinadas sob o crivo da sustentabili-
dade. Outras em que se discute o impasse do trnsito
e se recomenda o planejamento urbano, de forma que
as pessoas possam trabalhar, morar e fazer compras
numa mesma rea. Reduzir as inteis e longas viagens
urbanas fundamental. O fax e, agora, a Internet
ajudaram muito. Mas ainda assim preciso intervir. A
produo automobilstica , nos
bons momentos, cresce 20% ao
ano. Nossas ruas so as mesmas,
apesar dos viadutos.
A vantagem de se colocar
todo o problema da ecologia
urbana em poca de eleies
municipais o fato de que as
pessoas esto sendo voltadas
a considerar a situao de suas
cidades. um oportunismo sa-
dio, colocar a sustentabilidade
urbana no topo da agenda.
Os organismos fnanceiros
internacionais interpretam a realidade da opinio
pblica planetria. Investem na Amaznia e grandes
ecossistemas. Mas j esto abertos tambm para a
questo urbana.
Sem perder o foco nos grandes temas ambientais
do Pas, vamos nos concentrar nas cidades brasileiras
e se possvel escolher um problema para resolver de
fato. Se dependesse de mim, este problema seria o do
saneamento bsico.
SAIBA MAIS Cidade Sustentvel (www.cidade
sustentavel.com.br).
VEJA TAMBM Saneamento Bsico (pg. 303);
Cidades Sustentveis (pg. 410).
Durante muitos anos, concentramos nossa ateno
nas forestas e grandes ecossistemas nacionais. Essa
nfase conquistou vitrias aqui e ali, alm de galva-
nizar o apoio das entidades internacionais voltadas
para o meio ambiente. Acontece que a maioria do
povo brasileiro vive nas cidades. Existe uma grande
dvida dos ecologistas com o meio ambiente urbano.
Alguns sequer reconhecem a questo do saneamento
bsico como uma grande emergncia. Nove milhes de
crianas brasileiras vivem expostas a vrias doenas,
gastamos rios de dinheiro com os efeitos da contami-
nao hdrica.
No recomendo que esqueam as forestas e as
espcies em extino, os grandes cursos dgua. Pro-
ponho apenas uma reorientao de nosso eixo. Cidades
como Seattle nos Estados Unidos j fazem planos de 15
anos, para garantir sua sustentabilidade.
Certos temas como saneamento, abastecimento
de gua, trnsito, economia energtica, precisam ser
planejados para longo prazo, pois no h solues
milagrosas. No entanto, as experincias esto sendo
multiplicadas no mundo, algumas com xito. A primeira
tarefa conhec-las. A segunda, aplic-las levando em
conta nossa realidade.
Esgoto despejado no crrego, bairro da Zona Sul de So Paulo.
A
C
E
R
V
O
I
S
A
U
R
B
A
N
I
Z
A
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
CIDADES
382
BAA DE GUANABARA, ENTRE O IMAGINRIO E O REAL
LIVIA CHEDE ALMENDARY*
*Jornalista, editora assistente do Almanaque Brasil Socioambiental
O contraste entre o tecido urbano e a paisagem sobre
a qual se expande marcante na Baa de Guanabara. As 53
praias cercadas de rios, montanhas, morros e Mata Atln-
tica tambm abrigam 15 municpios, entre os quais est o
Rio de Janeiro, uma das maiores metrpoles do mundo e a
segunda maior do Brasil. O Rio de Janeiro continua lindo, a
msica de Gilberto Gil j dizia. assim que a cidade de Tom
Jobim (ver pg. 150), Vincius de Moraes, Chico Buarque,
da Bossa Nova, do samba, de Copacabana e das garotas de
Ipanema segue no imaginrio nacional e internacional, e
continua sendo um dos destinos brasileiros preferidos por
turistas estrangeiros, que chegaram a quase dois milhes
em 2000. Mas no s: o Rio tambm tem como retratos
a favela da Rocinha (a maior do mundo), a violncia asso-
ciada pobreza e ao trfco de drogas e o grave estado de
poluio das guas da Guanabara.
Assim como tambm aconteceu em grande parte da
Zona Costeira brasileira, no processo de ocupao dessa
regio prevaleceram as necessidades do funcionalismo ur-
bano, que para ser alcanado precisou venceros obstcu-
los naturais. Na Baa de Guanabara, esse processo comea
quando o ouro foi descoberto em Minas Gerais, ainda no
perodo colonial, tornando-a o porto escoadouro do que
se tornou o principal produto de comrcio do Pas. Esse
movimento responsvel pelo incio do desenvolvimento
e urbanizao da Baa de Guanabara e o Rio de Janeiro,
por conseqncia, torna-se a capital do Brasil em 1763, se-
guindo assim por quase duzentos anos, at a inaugurao
de Braslia. durante essa poca que a Mata Atlntica da
Guanabara passa a ser devastada para ceder lugar s obras
de embelezamento do Rio e s fazendas de caf, produto
que substitui o ouro no ciclo econmico. Porm, com as
constantes secas e os processos erosivos aumentando por
causa da intensifcao do desmatamento, algumas
fazendas foram desapropriadas para o reforestamento.
A regio do Parque Nacional da Tijuca um exemplo.
Foi D. Pedro II, em 1860, quem mandou reforestar
esta rea com sementes nativas para recuperar a mata
original, primeiro projeto do gnero na histria do Brasil
(ver Recuperao Florestal, pg. 288).
R
C
I
A
F
O
L
E
T
T
O
/
A
G
N
C
I
A
O
G
L
O
B
O
Mancha de leo na Baa de Guanabara atinge colnia de pesca de Jurujuba, em Niteri, e a Enseada de Botafogo.
C AR TO P OS TAL AME A ADO
U
R
B
A
N
I
Z
A
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 383
CIDADES
O espao da Baa, pouco a pouco, foi sendo tomado por
estaleiros, indstrias, vilas operrias e postos de imigrao.
Para que o Rio de Janeiro se tornasse uma metrpole mo-
derna, foram feitos programas urbansticos inspirados nos
planos europeus. O equilbrio frgil mantido at ento entre
rea natural e espao construdo deu lugar s aes que
cortam montanhas, aterram a Baa e perfuram morros.
A herana desse projeto de ocupao aparece na
poluio das guas, na favelizao, na misria e na vio-
lncia, presentes no s na cidade do Rio de Janeiro, mas
em toda a regio metropolitana que circunda a Baa, onde
vivem cerca de 8,3 milhes de pessoas. A primeira favela
carioca apareceu em 1897, no Morro da Providncia e, a
partir da, os barracos multiplicaram-se pelas encostas do
centro e dos morros que circundam a cidade, gerando ainda
mais desmatamento. A favela torna-se uma alternativa de
moradia para a populao de baixa renda, atrada para o
Rio pela grande oferta de empregos durante o perodo
de sua expanso. No entanto, a pobreza no retrocedeu e
hoje o Rio considerado uma das mais violentas cidades
do mundo. Em 2000, havia 205 homicdios por 100 mil
homens de 15 a 24 anos, sendo que as mortes por armas
de fogo representavam 89% deste total. O Rio de Janeiro
lidera o ranking nacional dos estados com mais mortes
juvenis, entre 15 e 24, segundo o Mapa da Violncia dos
Municpios Brasileiros (ver pg. 388).
A beleza das paisagens da Guanabara convive tam-
bm com graves problemas de poluio. Tornou-se um
gigantesco depsito de lixo a cu aberto e recebe, todos
os dias, cerca de 20 toneladas de esgoto por segundo
e 1.500 toneladas de lixo. A maior parte dos resduos
slidos futuantes vem dos rios que desguam na Baa.
Alm disso, no entorno da Guanabara encontra-se um
dos maiores parques industriais do Pas, zonas porturias,
refnarias e terminais martimos de petrleo. So mais de
6 mil indstrias, que contribuem para a poluio, com o
lanamento de cerca de 0,3 tonelada por dia de metais
pesados (ver Riscos e Acidentes Socioambientais,
pg. 456). Grandes acidentes com vazamentos de leo
e outros combustveis so tambm responsveis pelo
avanado estado de degradao das guas. Em 2000, o
rompimento de um duto da Petrobrs lanou na Baa 1,3
milho de litros de leo, que se espalhou em uma mancha
negra de 40 km2 e provocou um dos maiores acidentes
ambientais da regio .
O Programa de Despoluio da Baa de Guanabara
(PDBG), implantado em 1995 pelo governo do Estado
do Rio de Janeiro em parceria com rgos internacionais,
surge como uma tentativa de resolver esses problemas e
tambm como um gesto simblico de reconstruo. De
acordo com o contrato, o PDGB teria quatro etapas e seria
concludo em 1999, quando as oito estaes de tratamento
de esgoto previstas estariam em funcionamento. O prazo
foi estendido at 2002, mas, at hoje, as estaes no
funcionam porque a maior parte do esgoto no chega a elas
por falta de canos coletores. Em maro de 2007, o Programa
ganhou um reforo de R$ 58 milhes do Fundo Estadual
de Conservao Ambiental para a concluso das obras de
uma das estaes de tratamento. A ONG Baa Viva calcula
que sero necessrios mais de vinte anos para a baa ser
despoluda se no houver interrupes no PDGB. Doze
anos depois do incio do Programa, j foram gastos mais de
1,1 bilho de dlares e menos de 25% do esgoto lanado
in natura na Baa est sendo tratado.
SAIBA MAIS Centro de Informao da Baa de Gua-
nabara (www.cibg.rj.gov.br).
VEJA TAMBM Campanhas (pg. 501).
VOC SABIA?
M
As guas da Guanabara ganharam um
museu futuante: o pedreiro Luiz Fernando
Barreto de Queiroz Bispo construiu, em
2006, uma casa para morar toda feita
de lixo recolhido na Baa. A morada do
pedreiro fca nas guas do Canal de Cunha,
que despeja a carga de esgoto do Complexo
da Mar, um dos bairros pobres e mais
populosos do Rio de Janeiro.
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
I
A
T
C
A
N
N
A
B
R
A
V
A
384 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
CIDADES
Periferia da Zona Sul, maro, 2005 (acima); Jardim Ip, outubro, 2001 (abaixo). Pgina ao lado: Capo Redondo, outubro,
2001 (alto); Capo Redondo, novembro, 2004 (centro); Vila Fundo, maro, 2003 (embaixo).
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
I
A
T
C
A
N
N
A
B
R
A
V
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 385
CIDADES
IAT CANNABRAVA Vem desenvolvendo como trabalho principal nos ltimos seis
anos uma vasta documentao das periferias das grandes cidades latino-americanas. O
processo se aproxima muito mais de uma crnica potica e poltica do que da tradicional
denncia de pobreza e misria, to comum aos olhos da atual fotografa contempornea.
Utilizando a fotografa colorida como suporte, o trabalho pretende ser o retrato de uma
outra cidade que em muito pouco se assemelha s capitais que pensamos conhecer.
Neste ensaio, as fotos so da periferia de So Paulo.
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
I
A
T
C
A
N
N
A
B
R
A
V
A
386 ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
CIDADES
Jardim Pantanal, dezembro,
2001 (ao lado); Capo Redon-
do, maro, 2003 (abaixo).
E
N
S
A
I
O
F
O
T
O
G
R
F
I
C
O
I
A
T
C
A
N
N
A
B
R
A
V
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 387
CIDADES
Vila Fundo, maro, 2003 (alto); Capo Redondo, outubro, 2003 (centro, esq.);
Vila Itaca, outubro, 2001 (centro, dir.); Jardim Ip, outubro, 2001 (acima).
U
R
B
A
N
I
Z
A
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
CIDADES
388
DEVASTAO COMBINA COM VIOLNCIA
(DA REDAO)
Um estudo divulgado no incio de 2006, chamado
Mapa da Violncia dos Municpios Brasileiras, mostrou
que a devastao ambiental combina, e muito, com
violncia. Tanto verdade que, entre as dez cidades
mais violentas do Pas, quatro esto no arco do
desmatamento da Amaznia. O estudo, realizado
por Jacobo Waiselfsz para a Organizao dos Estados
Ibero-americanos para a Educao, Cincia e a Cultura
(OEI), mostra que as maiores taxas de homicdios esto,
normalmente, em cidades pequenas, em regies de
fronteira, desmatamento, grilagem de terra, explorao
ilegal de madeira, garimpo e contrabando. Nesses
locais, marcante a falta da presena do Estado e
impera a lei da fora, numa verso brasileira do faroeste
norte-americano de dois sculos atrs.
Sete cidades com esse perfl esto entre as dez
mais violentas o Pas, nos estados de Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Par
e Gois. As outras trs em
Pernambuco, Esprito Santo
e Rio de Janeiro so v-
timas da expanso ur-
bana desenfreada,
causada por algum
plo industrial. O
estudo mostra que
10% dos municpios (556)
concentram 72% dos homicdios registrados
no Pas entre 2002 e 2004. O mais espantoso,
porm, que o mapa expe um fenmeno que pe
cidades com menos de 15 mil habitantes no topo da
violncia nacional (considerando a taxa de homicdios
por 100 mil habitantes).
A primeira capital a aparecer no ranking Recife,
em 13 lugar. So Paulo a 9 entre as capitais, mas s
aparece em 182 lugar na lista geral das maiores taxas
de homicdios entre os 5.560 municpios brasileiros.
Isso no signifca que as grandes cidades sejam uma
referncia de tranqilidade. Apenas sete capitais no
aparecem na lista das 10% mais violentas do Pas e
as reas metropolitanas de grande parte dos Estados
tm situao preocupante, como no Rio de Janeiro,
Pernambuco e Esprito Santo.
O levantamento mostra, ainda, que 45,4% das cida-
des pernambucanas esto na lista das mais violentas, in-
cluindo Recife e sua regio metropolitana, mas tambm
o chamado Polgono da Maconha, no serto.
SAIBA MAIS Waiselfsz, Julio Jacobo. Mapa da
Violncia dos Municpios Brasileiros, Organizao
dos Estados Ibero-Americanos para a Educao, a
Cincia e a Cultura, 2007.
Os 15 municpios com
maiores taxas de homicdios
COLNIZA
(165,3)
ARIPUAN
(98,2)
JURUENA
(137,8)
S. JOS
DO XINGU
(109,6)
TAILNDIA
(104,9)
8
o
2
o
5
o
1
o
7
o
6
o
4
o
10
o
14
o
3
o
11
o
12
o
15
o
VILA BOA
(107,0)
SERRA (111,3)
13
o
9
o
ILHA DE
TAMARAC
(95,1)
RECIFE
(91,2)
MACA (94,5)
ITABORA (83,7)
ITAGUA (92,7)
CORONEL
SAPUCAIA
(116,4)
TUNAS DO PARAN
(86,8)
FOZ DO
IGUAU
(94,3)
Homicdios por 100 mil habi-
tantes, mdia de 2002 a 2004
Fonte: Mapa da Violncia dos Municpios Brasileiros, pu-
blicao da OEI com apoio do Ministrio da Sade; IBGE
U
R
B
A
N
I
Z
A
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 389
CIDADES
A Constituio do Brasil defne que existem trs nveis de governo: a Unio, os estados e os municpios. No
entanto, sabemos que em muitos casos o crescimento populacional faz com que as ocupaes urbanas extrapo-
lem as fronteiras dos municpios. Em outros casos, municpios em uma mesma regio so to complementares
e interdependentes que funcionam como uma nica cidade. Para dar conta dessas questes, o Pas estabeleceu
Regies Metropolitanas. As primeiras Regies Metropolitanas do Brasil foram institudas em 1973: Belm, Belo
Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador e So Paulo. No ano seguinte, foi criada a do Rio de
Janeiro. Atualmente, existem no Pas 26 regies metropolitanas, envolvendo mais de 400 municpios e mais de
60 milhes de habitantes.
Mas a gesto das regies metropolitanas no simples. Ainda no conseguimos viabilizar recursos e institui-
es fortes para geri-las. H tambm problemas polticos, pois a gesto metropolitana no pode ferir a autonomia
que os municpios possuem para construrem suas prprias polticas e muitas vezes difcil coordenar a ao de
municpios com orientaes polticas e partidrias diferentes em uma mesma regio. Essa questo permanece
um grande desafo para o Pas solucionar nos prximos anos.
REGIES METROPOLITANAS
os mais ricos) tm muito mais facilidade de acesso s opor-
tunidades, inclusive aquelas decorrentes de investimentos
pblicos, pois bibliotecas, museus, universidades pblicas
situam-se nas pores mais consolidadas da cidade, que
so quase sempre povoadas pelos mais ricos. O mercado
imobilirio reafrma essa diviso: pobres para um lado,
ricos para outro. E os espaos de contato entre os diferentes
grupos tm sido cada vez mais mediados por aparatos de
vigilncia e segurana.
Pobres cada vez mais longe
Os prprios investimentos pblicos causam impactos
diferentes ao incidir sobre as diferentes partes da cidade: nas
reas ricas, acabam valorizando ainda mais o patrimnio da-
queles que j detm o capital imobilirio. J nas partes pobres,
quando o investimento chega em geral, muitos anos aps a
chegada da populao a valorizao acaba expulsando os
moradores para mais longe ainda. Isso mais perceptvel ao
longo das dcadas, conforme os imveis vo sendo vendidos
pelos ocupantes originais e comprados por outros grupos
sociais. O mais perverso que essa valorizao decorre, muitas
vezes, de anos de lutas e reivindicaes da populao, que
sofre durante anos para obter cada centavo de investimento
pblico, em uma relao que freqentemente envolve clien-
telismo e troca de votos com os grupos polticos.
Uma vez expulsa dos locais valorizados pela infra-
estrutura, a populao de baixa renda tem como nica
alternativa reiniciar o processo: ocupar locais ainda mais
distantes e desprovidos de investimentos e por isso
mesmo baratos e retornar humilhante negociao pela
chegada da infra-estrutura e dos equipamentos pblicos,
enquanto constri aos poucos suas casas. Esse um dos
fatores que acabam por estender a cidade indefnidamente:
sob esse modelo, ela nunca cresce para dentro, aprovei-
tando locais que podem ser adensados, pois impossvel
para a maior parte das pessoas o pagamento pelo acesso
s terras que j dispem de toda a infra-estrutura instalada.
Ocupao predatria
Outro elemento importante a dimenso ambiental.
As especifcidades das reas de interesse ambiental beiras
VOC SABIA?
M
Que as partes irregulares das nossas
cidades so bem maiores que aquelas que
foram urbanizadas dentro das leis e normas de
urbanizao?
U
R
B
A
N
I
Z
A
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
CIDADES
390
de crregos, dunas, mangues, restingas, serras, reas de
mananciais, escarpas levam o poder pblico a declar-
las como de uso restrito, provocando em muitos casos uma
grande desvalorizao imobiliria, pois os preos decorrem
da possibilidade de edifcao e uso dos terrenos. Uma vez
desvalorizados para o mercado formal, os territrios de
interesse ambiental acabam transformando-se em reserva
de terras para os usos de baixa renda, sobre as bases mais
predatrias (ver Habitao, pg. 396).
Desigualdade, segregao, periferizao, degradao
ambiental geram efeitos nefastos para as cidades como
um todo ainda que sejam os pobres os mais afetados. Ao
concentrar todas as oportunidades de emprego, gera-se a
necessidade de transportar multides, o que nas grandes ci-
dades tem signifcado o caos no transporte de todos. Quando
a ocupao das reas frgeis do ponto de vista ambiental
provoca as enchentes ou a eroso, esses processos atingem
a cidade como um todo. Por isso, fundamental mudar
a maneira como estamos pensando,
produzindo e usando as nossas cidades,
para que mais pessoas possam aprovei-
tar das qualidades e oportunidades que
as cidades oferecem.
Planejamento urbano
O planejamento urbano no Pas
nunca conseguiu dar conta de resolver
o problema das cidades como um todo:
leis, planos e intervenes quase sempre
deixaram de fora os mais pobres ou,
pior ainda, acabaram os expulsando
para as piores partes das cidades. Es-
sas deficincias no planejamento das
cidades acabam abrindo espao para uma srie de prticas
informais. O acesso a equipamentos e infra-estrutura para
os que esto margem da lei envolve troca de votos por
investimentos pblicos ou (envolvendo tambm os mais
ricos) corrupo para a legalizao ou a no-fscalizao das
irregularidades. Essas prticas baseiam-se na desigualdade
de acesso aos mecanismos legais e quanto mais comple-
xas e sobrepostas as leis, maior o poder daqueles que as
conhecem e controlam.
O planejamento urbano tradicional vem sendo
questionado nos anos recentes, com o movimento pela
Reforma Urbana, que procura construir de forma demo-
crtica novos instrumentos de planejamento. Dentre as
conquistas recentes, podemos citar o captulo de poltica
urbana da Constituio de 1988, a aprovao do Estatuto
da Cidade, em 2001, a criao do Ministrio das Cidades e
do Conselho Nacional das Cidades, em 2003, e uma nova
gerao de planos diretores que procuram efetivar em cada
municpio a funo social da propriedade. Isso signifca o
estabelecimento de condicionantes que defnem o uso de
terrenos e imveis urbanos pelos proprietrios, de forma
que a propriedade urbana sirva a toda a sociedade. Todas
essas novidades trazem um conceito fundamental: o direito
cidade, que um novo direito fundamental, pertencente
categoria dos direitos difusos. Para que toda a populao
possa exerc-lo, necessrio que a cidade e a propriedade
urbana cumpram a sua funo social (ver Legislao
Brasileira, pg. 485).
SAIBA MAIS Frum Nacional de Reforma Ur-
bana (www.forumreformaurbana.org.br).
VEJA TAMBM Populao Brasileira (pg. 216);
Os Mananciais de So Paulo (pg. 308); Enchen-
tes (pg. 395); Transporte Urbano (pg. 409); Ha-
bitao (pg. 396); e Desenvolvimento Humano
(pg. 435).
Ocupao desordenada na Bacia Hidrogrfca da Billings, rea de manancial
da cidade de So Paulo, 2004.
M
O
N
I
C
A
M
O
N
T
E
I
R
O
S
C
H
R
O
E
D
E
R
/
I
S
A
A
R
Q
U
I
T
E
T
U
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 391
CIDADES
ARQUITETURA
ROSA ARTIGAS*
A arquitetura cria, defne e qualifca uma poro do territrio,
alm de lhe confgurar uma fnalidade, um uso. Tem, portanto, papel fundamental
na busca de solues com qualidade para programas sociais, urbanos e ambientais
*Historiadora, professora de Histria da Arquitetura na Escola da Cidade
No Brasil, as primeiras iniciativas de enfrentamento
das necessidades coletivas no mbito da arquitetura
remontam aos anos 1930 e estavam impregnadas pela
idia de progresso. O iderio do movimento moderno
pressupunha que a acelerao do desenvolvimento
industrial e o crescimento das cidades brasileiras te-
riam como resultante uma arquitetura essencialmente
urbana, capacitada para enfrentamento dos principais
problemas tcnicos e sociais. Essa arquitetura deveria
substituir a produo de tradio ecltica e monumental,
criticada pelos modernos, tanto do ponto de vista da
forma e dos processos construtivos incompatveis com
o mundo industrial que se avizinhava, como pelo seu
carter elitista.
Apesar de poucos e pontuais, edifcios como o Minis-
trio de Educao e Sade no Rio de Janeiro integravam
a nova imagem do Estado que se queria moderno.
A institucionalizao dessa nova imagem do Estado
brasileiro e a vocao progressista da nova arquitetura
se materializaram num conjunto de instituies criadas
para consolidar o movimento moderno: em 1937, cria-
do o Servio Nacional do Patrimnio Histrico; em 1945,
so fundados departamentos estaduais do Instituto de
Arquitetos do Brasil; no final dos 1940, as faculdades de
arquitetura e urbanismo iniciavam suas atividades sob o
estatuto do pensamento e da arquitetura modernos.
"Conjunto Habitacional Popular", Itapeva (SP), 2005.
D
E
L
F
I
M
M
A
R
T
I
N
S
/
P
U
L
S
A
R
I
M
A
G
E
N
S
A
R
Q
U
I
T
E
T
U
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 392
CIDADES
CONSTRUO E SUSTENTABILIDADE
VANDERLEY M. JOHN*
* Engenheiro civil, com doutorado pela USP e ps-doutorado pelo Royal Institute
of Technology (Sucia), professor da Escola Politcnica/USP e membro do
Conselho Brasileiro de Construo Sustentvel (CBCS)
A construo o setor da economia encarregado
de produzir o ambiente construdo (cidades, casas,
hospitais, estradas, pontes, barragens, estaes de
tratamento de gua, portos etc.). Nesse ambiente
construdo passamos quase toda a nossa vida.
Em sociedades como a brasileira, a qualidade do
ambiente construdo uma marca de excluso social.
Ser pobre normalmente signifca no ter acesso a um
ambiente construdo de qualidade. Os ricos habitam
reas com qualidade ambiental muito melhor que as
habitadas pelos pobres, as favelas. Portanto, a susten-
tabilidade da sociedade brasileira exige uma amplia-
o considervel do ambiente construdo. O desafo
realizar esta ampliao com um mnimo de impacto
ambiental. Mas afnal, quais so estes impactos?
Em primeiro lugar, produzir o ambiente construdo
implica em destruir o ambiente natural: foresta ou
terreno agrcola devem ser destrudos para dar lugar
a cidades, estradas e barragens.
A atividade demanda enorme quantidade de
recursos naturais, boa parte dos quais no renovveis.
Vamos dar alguns exemplos: a construo de um metro
quadrado de uma habitao tpica do Brasil, em alvena-
ria e concreto, pesa cerca de 1.000 kg. Um apartamento
de 50 m2 pesa, portanto, 50 toneladas. Outro nmero:
a construo de 100 metros de rua tpica requer 400
toneladas de material. Aps a construo, mais material
necessrio para as atividades de manuteno.
Entre 40% e 75% dos recursos extrados da na-
tureza so utilizados na construo civil. A escala de
produo de materiais de construo muito grande.
O cimento o material artifcial de maior consumo:
1,5 bilhes de toneladas ao ano, ou seja, cerca de 250
kg/hab/ano e esta produo est crescendo. Para cada
quilo de cimento so utilizados aproximadamente 5
kg de agregados naturais e cerca de 600 g de gua.
Assim, o consumo mdio per capita de produtos a
base de cimento de mais de 1.500 kg anuais. Alm
do cimento, a construo usa outros materiais, como
cermicas, metais, plsticos e madeira.
A produo, transporte, montagem e descarte
fnal desses materiais tm grande impacto ambiental,
social e econmico. A extrao de grande quantidade
de matrias-primas provoca a destruio de biomas.
No caso da madeira, a situao particularmente grave,
pois a maior parte da madeira utilizada no Pas para
construo extrada ilegalmente na Amaznia, pro-
cessada com alto desperdcio e depois transportada at
o local de consumo. Neste caminho, alm da emisso
de gases do efeito estufa pelos caminhes, deixa um
rastro de corrupo de agentes pblicos.
Muitos destes materiais, inclusive a madeira e as
pinturas, so impregnados de biocidas que, em contato
com a gua da chuva se dissolvem lentamente, conta-
minando o lenol fretico. Somente em 2007 o Brasil
proibiu a utilizao do pentaclorofenol, o p da China,
um poderoso veneno na proteo de madeiras.
O processamento industrial dessas matrias-primas
importante fonte de todos os tipos de poluio. Essa
indstria importante na emisso de gases do efeito
estufa, inclusive porque utiliza como matrias-primas
a rocha calcria: uma tonelada de rocha calcria pode
liberar 460 kg de CO
2
! Como conseqncia, a indstria
do cimento brasileira, uma das mais eco-efcientes do
mundo, responsvel por cerca de 12% do CO
2
emitido
-exceto o emitido pelas queimadas da Amaznia (ver O
Brasil e as Mudanas Climticas, pg. 365).
A produo desses materiais tambm gera uma
impressionante quantidade de resduos. Aos resduos
gerados nas indstrias (e mineraes) devemos adicionar
os resduos das atividades de construo e demolio nas
cidades. A massa desses resduos maior que do lixo urba-
no, permanecendo tipicamente em torno de 500kg/hab/
A
R
Q
U
I
T
E
T
U
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 393
CIDADES
ano. Um olhar mais atento na maioria das nossas cidades
permite identifcar rapidamente estes resduos: caambas
para coleta, caminhes de transporte e at montes de
resduos jogados em esquinas. O recolhimento destes
resduos depositados ilegalmente e a operao de aterros
legais tem elevado custo para os municpios. O mais grave
que a quase totalidade desse material pode ser reciclado,
especialmente na pavimentao de ruas, como mostram
experincias de sucesso em Belo Horizonte, trazendo
benefcios ambientais e econmicos para a sociedade.
No entanto, apesar dos benefcios ambientais evidentes e
da obrigatoriedade de implementar um sistema de coleta
para reciclagem introduzida pela resoluo Conama 207,
de 2002, at o momento poucas prefeituras brasileiras
decidiram enfrentar o problema.
A produo e transporte dos materiais de construo
e o uso do ambiente construdo consomem grande quan-
tidade de energia. Somente o uso de edifcios consome
cerca de 50% da energia eltrica brasileira e cerca de
20% da energia total. E a participao dos edifcios no
consumo de energia vem crescendo na medida em que
o ar-condicionado se torna mais barato e se populariza. O
uso dos edifcios consome cerca de 20% da gua utilizada
no Pas e sabemos que esse consumo pode ser reduzido
signifcativamente pela combinao de equipamentos de
baixo consumo e pela educao dos usurios.
A destruio da vegetao aliada s caractersticas
superfciais dos materiais de construo produz o fen-
meno conhecido por ilhas de calor: a cidade sempre
mais quente que o entorno, o que durante os perodos
de calor provoca desconforto aos usurios e aumenta
a demanda por energia para refrigerao.
Responsvel por uma tarefa to grande, o setor
da construo tem peso econmico proporcional,
representando cerca de 15% do PIB brasileiro. Gera
tambm cerca de 15 milhes de empregos.
Um problema econmico do setor a informalida-
de. Muitas atividades, da produo de materiais como a
cermica e a extrao e processamento da madeira at
a ocupao da terra so informais, ou seja, esto fora
do controle do Estado. Isto signifca que no pagam
impostos, no respeitam a legislao ambiental ou
muitas vezes no pagam os direitos sociais dos seus
trabalhadores. Alm disso, boa parte dos trabalhadores
do setor, particularmente os operrios da obra, vive na
pobreza. Certamente o Brasil no ser um pas susten-
tvel sem que estes problemas sejam resolvidos.
Sabemos que no possvel construir sem que
ocorram impactos ambientais, sociais e econmicos.
O desafo desenvolver mtodos e tecnologias que
permitam a produo do ambiente construdo com
uma reduo substancial do impacto ambiental e
maximizando os benefcios sociais e econmicos. No
um desafo fcil e vai exigir esforos de todos os in-
tegrantes da cadeia produtiva da construo e dos seus
consumidores. Muitas tecnologias mais eco-efcientes
j esto disponveis. Vamos a alguns exemplos:
M
cimentos de baixo impacto ambiental, fabricados
com at 70% de resduos da indstria siderrgica
(Cimento CP III e CP II E);
M
aquecedores de gua que utilizam energia solar
e que podem substituir parcialmente chuveiros a
gs ou eltricos;
M
sistemas de coletas e reutilizao de guas de
chuva, que ajudam a controlar enchentes urbanas;
M
sistema PROCEL de etiquetagem de efcincia
energtica para edifcios de escritrio;
M
madeiras de reforestamento e certifcadas;
M
equipamentos economizadores de gua, como
os aeradores das torneiras.
SAIBA MAIS John, V. M.; Silva, V. G.; Agopyan, V.
Agenda 21: uma proposta de discusso para o cons-
trubusiness brasileiro. Porto Alegre, RS. 2001. p. 91-
98. In: Encontro nacional e encontro latino-america-
no sobre edifcaes e comunidades sustentveis, 2
o
e 1
o
, Canela, RS, 2001. Artigo tcnico disponvel em
www.infohab.org.br. Conselho Brasileiro de Cons-
truo Sustentvel (www.cbcs.org.br).
VEJA TAMBM Minerao (pg. 352); Lixo (pg.
398).
A
R
Q
U
I
T
E
T
U
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 394
CIDADES
SAIBA MAIS Arquitextos (www.vitruvius.com.
br/arquitextos/arquitextos.asp); Bonduki, Nabil.
Origens da habitao social no Brasil. So Paulo,
Estao Liberdade, 2002; Bruand, Yves. Arquite-
tura contempornea no Brasil. So Paulo, Pers-
pectiva, 2002; John V. M.; Silva, V. G.; Agopyan,
V. Agenda 21: uma proposta de discusso para o
construbusiness brasileiro. In: Encontro Nacional
e Encontro Latino-Americano sobre Edifcaes e
Comunidades Sustentveis (1
o
e 2
o
: 2001: Canela,
RS). Artigos Tcnicos. Porto Alegre, 2001. p. 91-8.
(disponvel em www.infohab.org.br).
VEJA TAMBM Enchentes (pg. 395); Habita-
o (pg. 396); Lixo (pg. 398).
Nos anos seguintes, no contexto do plano desen-
volvimentista de Juscelino Kubitscheck, teve incio uma
nova fase da produo da arquitetura brasileira na qual
se afirma e se difunde a nova arquitetura.
De meados dos anos 1950 at o perodo do golpe
militar de 1964, principalmente a partir do impacto da
construo de Braslia, houve uma maior participao
dos arquitetos modernos na produo de espaos ligados
a programas pblicos e criao de rgos e entidades
de governo para os quais os arquitetos eram chamados
a colaborar. o momento em que a arquitetura brasileira
se integra s obras cotidianas, respondendo com efici-
ncia e qualidade s demandas governamentais, como
escolas, hospitais, fruns, parques pblicos, estaes e,
pontualmente, alguns conjuntos habitacionais dirigidos
para as camadas populares.
Habitao Social
Uma das principais temticas do movimento moder-
no em seus princpios era a habitao social. No entanto,
muito pouco foi edificado nessa rea, no por conta da
incapacidade tcnica dos arquitetos, mas por ter havido
um vnculo perverso entre a questo da habitao e a
propriedade privada do solo no Brasil. Assim, processos
de ocupao do espao nas grandes cidades brasileiras
ficaram ligados aos planos da especulao imobiliria e
a conseqente expulso das camadas mais pobres para
as periferias, loteamentos clandestinos e favelas (ver
Urbanizao, pg 380).
No perodo da ditadura militar, a instaurao de um
processo de modernizao e desenvolvimento econmico
de carter centralizador e autoritrio, aliada aliana
entre as polticas estatais e o capital privado, procurou
exterminar todo e qualquer indcio de carter social e
humanista que ainda havia na arquitetura brasileira.
A modernizao autoritria acelerou o processo de
abandono das populaes mais carentes e induziu um
inchao das grandes cidades brasileiras. Formadas por
enormes contingentes de migrantes recentes, as grandes
cidades incorporaram mal os dados culturais externos
e foi mal incorporada pelas populaes recentemente
instaladas nas zonas urbanas.
A arquitetura, como produo de espaos com quali-
dade, foi sendo engolida pelo conjunto de grandes obras
sem vnculo cultural com o povo brasileiro e submetida
aos grandes planos urbanos e virios, que abriam novos
espaos especulativos nas cidades e induziam ao uso
privado dos espaos pblicos.
Sustentabilidade
Somente na dcada de 1980, com o processo de reestru-
turao do estado democrtico, o debate sobre os destinos
do Pas foi retomado. Para criar uma arquitetura contempo-
rnea pactuada com o Pas que reconstrua sua identidade,
foi necessrio retomar criticamente alguns compromissos,
abandonados pelo descaso com as polticas sociais.
Hoje, cabe aos arquitetos estarem capacitados para
responder com suas arquiteturas a diversos e complexos
programas. Os espaos projetados esto considerando
novos e urgentes temas, como priorizao da habitao
social; respeito ao ambiente natural; desenvolvimento
de novas tecnologias; associao com movimentos
populares, disponibilizando o saber e o fazer especfico
da arquitetura; elaborao de propostas que garantam
sustentabilidade e qualidade de vida; valorizao do
ambiente histrico e cultural; priorizao dos espaos
pblicos; construo de uma conscincia da real e defi-
nitiva importncia da vida urbana.
E
N
C
H
E
N
T
E
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 395
CIDADES
ENCHENTES
O Brasil sofre, todos os anos, com os danos provocados pelas enchentes,
que causam vtimas fatais, milhares de desabrigados e destruio de bens
CONSULTORAS: ANA LUCIA ANCONA* E VIOLTA KUBRUSLY**
* Arquiteta, doutora em Planejamento Urbano
e Regional pela FAU/USP * ala.sp@uol.com.br
**Arquiteta, doutora em Geografa Humana, pela FFLCH/USP
VOC SABIA?
M
Nos primeiros trs meses de 2004, as enchentes
fzeram 211 vtimas fatais no Brasil, danifcando a
moradia de aproximadamente 377 mil pessoas, das
quais 165.773 fcaram desabrigadas.
COMO POSSO AJUDAR?
Algumas solues para o problema das enchentes
no esto ao alcance de todos. Mas algumas pequenas
iniciativas podem ser tomadas em casa mesmo, ou na
rua, por qualquer pessoa, como no jogar papis ou
lixo nas ruas, pois podem entupir as bocas de lobo e
impedir a gua de chegar s galerias pluviais, e evitar
fazer quintais e ptios cimentados. Grama, hortas e
outros tipos de plantas facilitam a infltrao da gua
no solo e deixam o ambiente mais agradvel.
SAIBA MAIS Secretaria Nacional de Defesa Civil
(www.defesacivil.gov.br/est_index.htm).
VEJA TAMBM Os Mananciais de So Paulo
(pg. 308); Urbanizao (pg. 380).
O desenvolvimento urbano modifca as condies fsicas
e morfolgicas do territrio, causando transformaes no ciclo
hidrolgico natural, aumentando a velocidade das guas
superfciais, gerando colapsos no seu escoamento e causando
as enchentes. Nas grandes cidades brasileiras, a ocorrncia de
enchentes se intensifca em decorrncia da forma como se d
o processo de urbanizao, destacando-se:
M
Sub-dimensionamento dos canais e galerias destinados
ao escoamento das guas pluviais;
M
Adoo de canalizaes fechadas, associada falta de
manuteno e de limpeza dos dutos e canais;
M
Ocupao indiscriminada das vrzeas inundveis, desres-
peitando as faixas de proteo defnidas em legislao;
M
Grande extenso horizontal das reas urbanas, associada
impermeabilizao dos lotes e reas pblicas;
M
Crescimento constante dos loteamentos precrios nas
periferias, sem adoo das medidas para o controle
da eroso e conseqente assoreamento dos canais de
drenagem.
A partir da dcada de 1990, o agravamento do proble-
ma das enchentes em reas urbanas comeou a ser enfrenta-
do com solues chamadas no estruturais, apresentadas
como alternativas s tradicionais obras de drenagem. As
leis de uso do solo passaram a exigir a manuteno de
reas permeveis em todos os lotes urbanos e a execuo de
poos e outras formas de armazenamento da gua da chuva,
para retardar sua chegada nos sistemas de drenagem da
cidade. Tambm existem servios de defesa civil que atuam
preventivamente, alertando os moradores de reas inund-
veis, a partir de informaes meteorolgicas, e prestando
atendimento durante as ocorrncias de enchentes. Por meio
de campanhas de educao ambiental, os cidados esto
mais conscientes da importncia das reas verdes urbanas
e mais atentos contra comportamentos indesejveis como
jogar lixo nas ruas e reas pblicas.
Apesar desses avanos, no caso de So Paulo, por
exemplo, a enorme extenso da rea impermeabilizada e a
insufcincia do sistema de drenagem criaram uma situao
to problemtica que mesmo as chuvas de mdia intensidade
so sufcientes para causar grandes transtornos. Para enfrentar
essa situao, todas as medidas, estruturais e no estruturais,
tm que ser acionadas no mximo de sua capacidade, ao
mesmo tempo que se torna inadivel o controle sobre o uso
do solo e expanso desordenada da rea urbana.
H
A
B
I
T
A
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 396
CIDADES
HABITAO
ANA LUCIA ANCONA* E VIOLTA KUBRUSLY**
Habitao adequada uma necessidade bsica do ser humano. No Brasil, o tema remete discusso do
dfcit, precariedade e difculdades de acesso moradia, que afigem a grande maioria da populao
*Arquiteta, doutora em Planejamento Urbano
e Regional pela FAU/USP. * ala.sp@uol.com.br
**Arquiteta, doutora em Geografa Humana pela FFLCH/USP
SAIBA MAIS Programa de Tecnologia de
Habitao Coletnea de livros disponveis
para download (www.habitare.org.br/pu-
blicacao_coletanea.aspx).
VEJA TAMBM Arquitetura (pg. 391);
Cidades Sustentveis (pg. 410); Os Manan-
ciais de So Paulo (pg. 308).
O problema da habitao popular urbana comeou
na segunda metade do sculo XIX, com a definio de
garantias legais para a propriedade privada da terra (1850),
abolio da escravido (1888) e incio de um intenso processo
migratrio dos trabalhadores rurais para as cidades, onde se
concentraram as oportunidades
de trabalho assalariado, criadas
pelo desenvolvimento indus-
trial, expanso do comrcio
e dos servios. At 1930, na
primeira etapa desse processo,
predominava a idia de que,
numa economia de mercado,
a proviso habitacional deveria
resolver-se no mbito da ini-
ciativa privada, sem envolver a
aplicao de recursos pblicos, e as necessidades de moradia
dos trabalhadores foram atendidas por meio dos cortios.
O cortio um tipo de habitao coletiva, com instalaes
sanitrias de uso comum e subdiviso das edifcaes em
cmodos, geralmente superlotados. Apesar das condies
habitacionais insatisfatrias, o aluguel nos cortios era
relativamente caro e nem todos tinham renda sufciente para
pag-lo. Assim, por volta de 1900, em cidades como o Rio
de Janeiro e Recife, surgiram as primeiras favelas, nas quais
a precariedade da casa se apresentava associada precarie-
dade da posse da terra, decorrente da ocupao de terrenos
pblicos ou privados, e de reas
inadequadas urbanizao,
como morros e mangues.
Depois de 1930, com a ace-
lerao da urbanizao/indus-
trializao, acompanhada de
empobrecimento da populao
trabalhadora e agravamento
das condies de moradia nas
principais cidades, comeou a
tornar-se consenso a necessida-
de de interveno do poder pblico na questo habitacional.
Dentre as medidas adotadas para responder s presses po-
pulares, destacam-se o tabelamento dos aluguis (1942), cujo
Conjunto habitacional em Cidade Tiradentes (SP), 2002.
R
G
I
O
A
N
D
R
A
D
E
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
H
A
B
I
T
A
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 397
CIDADES
O QUE SO ZEIS
As Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS)
so reas delimitadas por leis municipais de uso e
ocupao do solo visando criar condies especiais
para a regularizao fundiria de favelas e lotea-
mentos precrios de baixa renda, garantindo-lhes
segurana na posse e acesso infra-estrutura
urbana, mas fexibilizando os parmetros urba-
nsticos geralmente exigidos, tais como recuos,
gabaritos, larguras de vias, metragem dos lotes,
porcentagem de reas verdes etc. As ZEIS estabe-
lecidas em leis municipais tambm servem para
defnir as reas prioritrias para intervenes da
poltica habitacional, incluindo aes de recupe-
rao dos assentamentos existentes e a construo
de novas moradias.
efeito foi desestimular a produo de imveis para locao, e a
organizao de sistemas de fnanciamento para a construo
de moradias. Operando com recursos da Previdncia, que se
tornaram signifcativos depois da criao do FGTS (1964),
esses fnanciamentos foram importantes para a classe mdia,
especialmente durante a existncia do BNH (1964/85), mas
no tiveram efeito signifcativo no atendimento das neces-
sidades habitacionais das famlias de baixa renda. Para estas,
a nova soluo habitacional, que surgiu em torno de 1940,
foi a auto-construo da casa prpria, em loteamentos irre-
gulares, localizados nas periferias metropolitanas, em reas
desprovidas de infra-estrutura urbana e distantes dos locais
de trabalho. Paralelamente, ampliavam-se as favelas, como
forma de moradia dos mais pobres entre os pobres.
Entre 1980 e 2000, as cidades brasileiras comearam
a sofrer efeitos das mudanas macro-econmicas que
encerraram o perodo desenvolvimentista: os problemas
relacionados com os baixos nveis de salrio foram agravados
pelo desemprego, que se refetiu em aumento da pobreza,
da precariedade habitacional e das favelas. Os investimentos
pblicos em polticas urbanas recuaram e os governos muni-
cipais foram gradualmente abandonados aos seus prprios
recursos oramentrios, enquanto o governo federal se
dedicava a administrar a infao e a dvida externa. Nessa
conjuntura, tambm marcada por grande mobilizao dos
movimentos sociais de moradia, os municpios buscaram
solues alternativas para as necessidades habitacionais
populares, destacando-se os programas de urbanizao e
regularizao de assentamentos precrios (favelas e lote-
amentos irregulares de baixa renda). No cenrio nacional,
as lutas por melhores condies de moradia resultaram: na
aprovao do usucapio especial urbano, pela Constituio
Federal (1988); na incluso do direito moradia como direito
constitucional (2000); na aprovao do Estatuto da Cidade
(2001); e na edio da Medida Provisria 2.220 de 2001,
que criou a concesso de uso especial para fns de moradia,
aplicvel terrenos pblicos ocupados por favelas.
A partir da aprovao do Estatuto da Cidade, a regu-
larizao fundiria e urbanizao de reas ocupadas por
populao de baixa renda, mediante o estabelecimento
de normas especiais de uso e ocupao do solo tornou-se
uma diretriz nacional da poltica urbana. A urbanizao de
favelas e de loteamentos irregulares de baixa renda entrou
defnitivamente na agenda da poltica habitacional e a
regularizao fundiria comeou a ser implementada por
meio de diversos instrumentos, destacando-se a delimitao
de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS). Por outro lado,
com a criao do Ministrio das Cidades (2003), o governo
federal retomou os investimentos pblicos em habitao,
reunindo recursos oramentrios, do FGTS e de outras fontes
de fnanciamento, para enfrentar um dfcit estimado em
7,9 milhes de novas moradias, sendo 6,4 milhes em reas
urbanas, segundo estudo da Fundao Joo Pinheiro (2005).
Do total do dfcit estimado, 90,3% corresponde s famlias
com renda mensal de at 3 salrios mnimos e para essa
faixa da populao esto dirigidas as prioridades da atual
poltica nacional de habitao, em especial a destinao de
subsdios. A criao, por lei, do Sistema e Fundo Nacional de
Habitao de Interesse Social (2005), constituiu outra con-
quista importante das lutas pela universalizao do direito
moradia, contemplando: uma poltica explcita de subsdios
para as famlias de baixa renda; regras para a articulao de
recursos dos trs nveis de governo; diversifcao dos tipos
de atendimento, em consonncia com a diversidade social e
regional da demanda; e garantias de controle social sobre
os investimentos pblicos em habitao.
L
I
X
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 398
CIDADES
LIXO
GINA RIZPAH BESEN*
Reduzir as milhes de toneladas de lixo que nossa civilizao produz todos os dias um dos maiores
desafos da atualidade. No Brasil, dar uma destinao correta a esse lixo ainda meta distante
*Psicloga, mestre e doutoranda da Faculdade de Sade Pblica da
Universidade de So Paulo e consultora em Gesto Socioambiental
Todos os produtos que consumimos so extrados da
natureza, desde os que suprem as nossas necessidades
bsicas de gua, alimento, energia, moradia, vesturio
at queles que nem usamos e descartamos, como em-
balagens desnecessrias e produtos que compramos por
impulso, mas que no servem para nada.
Da mesma forma que precisamos consumir para
viver, passamos toda a vida gerando resduos. At
bem pouco tempo, ningum se importava com o que
acontecia com o lixo, afinal o Planeta era a lata de lixo
do ser humano
Podia-se jogar o lixo em qualquer lugar e de qualquer
forma, causando contaminao e desmatamento de
reas, poluio de rios e mares e transmisso de doenas.
Hoje, sabe-se que no bem assim. O lixo tornou-se um
R
O
B
S
O
N
V
E
N
T
U
R
A
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
(
2
0
0
2
)
Lixo acumulado no piscino localizado na av. Roberto Marinho, So Paulo (SP), impede a passagem da gua para o rio.
grande problema socioambiental e de sade pblica
urbano. No existem dados confiveis ou sistematizados
sobre quanto lixo produzido no mundo, quais os pro-
dutos qumicos que esto sendo usados na composio
dos novos produtos que consumimos, principalmente os
tecnolgicos, e os impactos que temos de fato com sua
produo e descarte.
No Brasil, o IBGE tem realizado pesquisas sobre a
produo e destinao final do lixo domiciliar. Os dados
so, no mnimo, questionveis, fornecidos em geral
pelas prefeituras e de difcil verificao. Quanto aos
demais tipos de lixo, o controle ainda mais precrio. As
quantidades geradas so assustadoras, o gerenciamento
L
I
X
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 399
CIDADES
ZOOM
PROGRAMAS SOCIOAMBIENTAIS DE COLETA SELETIVA
Muitos municpios brasileiros esto desenvolvendo parcerias com catadores de materiais reciclveis organi-
zados em cooperativas e associaes para a implementao de programas de coleta seletiva de lixo. O objetivo
promover a coleta seletiva como parte de uma poltica de incluso social e gerao de renda.
Ainda no sabemos quantos programas existem no Brasil, mas importante destacar os das cidades de Porto
Alegre e Belo Horizonte pelo pioneirismo e potencial de replicabilidade demonstrados ao longo dos ltimos dez
anos. O programa de Porto Alegre viabilizou a retirada de catadores dos lixes e os integrou coleta seletiva. O de
Belo Horizonte viabilizou a organizao de catadores de rua promovendo sua valorizao e insero no sistema
de limpeza pblica.
SAIBA MAIS Movimento Nacional dos Catadores (www.movimentodoscatadores.org.br); Instituto Cata
Sampa Rede Cata Sampa (www.catasampa.org); Associao dos Catadores de Papel, Papelo e Material
Reaproveitvel de Belo Horizonte (Asmare) (www.asmares.org.br); Cooperativa de Catadores Autnomos
de Papel, Papelo, Aparas e Materiais Reaproveitveis (Coopamare) So Paulo (www.coopamare.org.br).
SOCIOAMBIENTAL
SE ESCREVE JUNTO
REDUZIR O LIXO PRATICAR
O CONSUMO RESPONSVEL
M
Consumo responsvel escolher produtos
considerando seus efeitos sobre nossa sade e
sobre o meio ambiente.
M
Consumir apenas o necessrio evitar
o impulso.
M
Escolher produtos reciclveis evitar os
no reciclveis.
M
ATENO: A existncia do smbolo da
reciclagem nas embalagens no signifca que
o produto ser reciclado, principalmente se
jogado no lixo.
VEJA TAMBM Consumo Sustentvel (pg. 428).
VOC SABIA?
M
Que no Brasil as prefeituras coletam diaria-
mente 228.413 toneladas de lixo?
M
Que dos 5.670 municpios brasileiros apenas
1.814 coletam o lixo em 100% das residncias?
M
Que cerca de 20% do lixo jogado nos rios
e vrzeas?
M
Que 73% do lixo coletado pelas prefeituras
enterrado, 3% transformado em adubo e
4% reciclado?
M
Que apenas 8% dos municpios brasileiros
tm programas de coleta seletiva de lixo?
M
Aps a Resoluo Conama 258/1999, que
estabeleceu metas de coleta e reciclagem de
pneus, os ndices de reciclagem passaram de
10% para 58%.
M
No Brasil, no existe legislao para coleta e
reaproveitamento dos resduos eletroeletrnicos
(celulares, computadores, impressoras, dentre
tantos outros), que em sua maior parte vo
parar em aterros sanitrios e lixes.
L
I
X
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 400
CIDADES
OS TIPOS DE LIXO
M
O lixo domiciliar formado por restos de alimen-
tos, papis e embalagens e papel higinico.
M
O que fazer reduzir a gerao, reutilizar, sepa-
rar para a coleta seletiva e a reciclagem.
Mas produzimos outros tipos de lixo que exigem
coletas e tratamentos diferenciados:
M
Comercial gerado em estabelecimentos
co merciais e de servios, bares, restaurantes, lojas
(papel, plsticos, papelo, sacos plsticos, emba-
lagens diversas).
M
O que fazer separar para a coleta seletiva e
a reciclagem.
M
Hospitalar gerado em hospitais, clnicas e
cl nicas veterinrias, laboratrios, farmcias, postos
de sade e outros (agulhas, seringas, gases, rgos
e tecidos removidos, luvas, remdios com prazo de
validade vencido, flmes de raio x e outros).
M
O que fazer separar os resduos comuns dos
resduos de servio de sade. Os resduos comuns
podem ser entregues para a coleta seletiva. Os res-
duos qumicos e infecciosos tm que ser separados
e destinados para incinerao ou aterros adequados.
Os remdios vencidos devem ser entregues para os
laboratrios responsveis. As farmcias so obriga-
das a receb-los e encaminh-los.
M
Industrial gerado nas atividades dos diversos
ramos da indstria: metalurgia, qumica, petroqumi-
ca, alimentcia e outras (cinzas, lodos, leos, madeiras,
fbras, metais, escrias, borrachas e outros).
M
O que fazer devem ser destinados aos aterros
industriais atravs de empresas transportadoras le-
galmente constitudas, licenciadas e que comprovem
a destinao adequada dos resduos.
M
Especial gerado em vrias fontes: construo
civil, indstria tecnolgica (material de obras, entu-
lhos, txicos, pneus, pilhas, baterias, computadores,
celulares, televisores, eletrodomsticos e outros).
M
O que fazer pilhas e baterias separar e de-
volver no local da compra ou em postos especiais de
coleta; entulho contratar empresa ou levar para um
aterro de inertes ou um posto de entrega voluntria
municipal, quando existente; tecnolgico procurar
reaproveitar ao mximo, uma vez que o destino fnal
so os lixes e aterros sanitrios.
M
Pblico gerado na varrio das ruas, podas
das rvores e entulho das ruas (galhos, folhas,
limpeza de galerias, crregos e terrenos, feiras,
animais mortos).
M
O que fazer a coleta e a destinao destes res-
duos so atribuies do poder pblico, mas pode-se
colaborar no jogando lixo e entulho nas ruas.
DESTINO DOS RESDUOS SLIDOS URBANOS
PAS Aterros e/ou lixes
Incinerao com Compostagem +
recuperao de energia Reciclagem
Brasil* 90% 10%
Alemanha 20% 20% 60%
Blgica 10% 35% 55%
Reino Unido 75% 10% 15%
Portugal 75% 20% 5%
China** + de 70% Dado no disponvel 20% (s compostagem)
F
o
n
t
e
:
*
C
e
m
p
r
e
/
E
u
r
o
s
t
a
t
-
S
t
a
t
i
s
t
i
c
a
l
O
f
c
e
o
f
t
h
e
E
u
r
o
p
e
a
n
C
o
m
m
u
n
i
t
i
e
s
/
*
*
C
i
r
c
u
l
a
r
E
c
o
n
o
m
y
C
o
m
m
i
t
t
e
e
(
C
E
C
)
L
I
X
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 401
CIDADES
EVOLUO DA GERAO PER CAPITA DE RESDUOS URBANOS
A fgura abaixo mostra que existe um aumento da produo da quantidade de lixo coletada
por habitante proporcional ao aumento do porte das cidades no Estado de So Paulo.
> 500.000
0,7 kg
por dia
DE 200.000
A 500.000
0,6 kg
por dia
DE 100.000
A 200.000
0,5 kg
por dia
AT 100.000
HABITANTES
0,4 kg
por dia
GERAO DE RESDUOS
URBANOS PER CAPITA
COMPARATIVA ENTRE
BRASIL E OUTROS PASES
Fonte: *Cempre e Eurostat Statistical Ofce of the European Communities
Brasil* 0,80 kg/dia
Polnia 0,78 kg/dia
Dinamarca 1,55 kg/dia
Sucia 1,04 kg/dia
Reino Unido 1,36 kg/dia
Itlia 1,23 kg/dia
Alemanha 1,46 kg/dia
Eslovnia 1,63 kg/dia
Fonte: Inventrio Estadual de Resduos Slidos Urbanos Cetesb, 2006
O QUE LEGAL
Em 2001, a Cmara dos Deputados instalou uma Comisso Especial para estudar 72 projetos de resduos
slidos em tramitao e propor um Projeto de Lei para a Poltica Nacional de Resduos Slidos.
Existe uma proposta de PL em tramitao no Congresso Nacional que at o momento no obteve con-
senso para sua aprovao. Este um projeto importante e polmico pois estabelece as responsabilidades
de todos os setores, poder pblico, produtores, importadores, distribuidores e do cidado com relao aos
vrios tipos de lixo.
OS CINCO Rs
Podemos fazer a nossa parte em relao ao
lixo que produzimos, praticando os cinco Rs
REPENSAR hbitos e atitudes.
REDUZIR a gerao e o descarte.
REUTILIZAR aumentar a vida til do produto.
RECICLAR transformar num novo produto.
RECUSAR produtos que agridam a sade e
o ambiente.
L
I
X
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 402
CIDADES
TEMPO DE DECOMPOSIO
DOS RESDUOS
A tabela mostra como importante usar
recursos naturais de forma sustentvel,
valorizar materiais reciclveis e
reaproveitveis e evitar a degradao
ou contaminao de novas reas
Fonte: King Country Waste Divison, Seattle Washington (1989) e www.ambientebrasil.com.br
Material
Tempo de
decomposio
Matria Orgnica 3 a 6 meses
Papel 1 a 3 meses
Pneu indeterminado
Restos Orgnicos 2 meses a 1 ano
Madeira 6 meses
Latas de conserva 100 anos
Chiclete 5 anos
Embalagens longa vida At 100 anos
Plstico At 400 anos
Latas de Alumnio 200 a 500 anos
Garrafas de vidro indeterminado
OS CATADORES DE
MATERIAIS RECICLVEIS
A reciclagem no Brasil sempre foi sustentada
pelos catadores informais de lixo nas ruas e nos
lixes. Estima-se que existam mais de 200.000
catadores de rua e mais de 40 mil pessoas viven-
do diretamente da catao em lixes.
Estes catadores sempre ajudaram a promo-
ver a limpeza das cidades e a proteo do meio
ambiente, sem nenhum tipo de reconhecimento
da sociedade. Nos ltimos dez anos, os catadores
comearam a se organizar em cooperativas e
associaes com o apoio de instituies da socie-
dade civil e de prefeituras. Criaram o Movimento
Nacional dos Catadores.
Hoje so conhecidos como agentes de lim-
peza pblica e reconhecidos pelo Ministrio do
Trabalho como uma categoria, a de catadores de
materiais reciclveis.
Catador em Curitiba (PR), 2003. H mais de 350 cooperativas e associaes de catadores no Pas.
A
L
B
A
R
I
R
O
S
A
/
G
A
Z
E
T
A
D
O
P
O
V
O
/
F
U
T
U
R
A
P
R
E
S
S
L
I
X
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 403
CIDADES
NO CONFUNDA...
M
Lixo o pior tipo de disposio fnal do lixo. O lixo jogado diretamente no solo e a cu aberto, sem
atender a nenhuma norma de controle, causando poluio da gua, do ar e do solo e problemas de sade
pblica. Entre os problemas, esto a proliferao de vetores de doenas - moscas, mosquitos, ratos etc. -,
mau cheiro e contaminao do solo e das guas pelo chorume (lquido escuro contendo alta carga poluidora,
proveniente da decomposio da matria orgnica presente no lixo).
M
Aterro Controlado Em geral so antigos lixes que passaram por algum tipo de tratamento tcnico,
adequando-se parcialmente s normas de engenharia, mas que no apresentam a segurana de um aterro
sanitrio no que se refere ao controle da poluio. Geralmente no dispe de impermeabilizao do terreno,
comprometendo a qualidade das guas subterrneas, nem de sistemas de tratamento do chorume e do
biogs gerado. prefervel ao lixo, mas preciso fcar atento, pois um aterro controlado pode com muita
facilidade se transformar novamente em lixo se mal operado.
M
Aterro Sanitrio para onde os resduos slidos domiciliares so destinados, segundo critrios de engenha-
ria e normas operacionais especfcas, que permitem a confnao segura do lixo em termos de controle da poluio
ambiental e proteo ao meio ambiente. Os resduos so depositados em terrenos impermeabilizados, compactados
e recobertos por camadas de terra. A rea tem dispositivos para drenagem da gua, captao e tratamento do
chorume, assim como para captao e tratamento dos gases provenientes da decomposio do lixo (principalmente
metano e dixido de carbono). J existem tecnologias que permitem captar o metano e transform-lo em energia
eltrica, evitando que seja lanado na atmosfera e contribua com o aquecimento global. Est cada vez mais difcil
encontrar reas para construir aterros devido s restries ambientais e ao impacto de vizinhana.
M
Aterro Industrial Local para onde os resduos industriais so enviados e dispostos no solo, sem causar danos
ou riscos sade pblica e segurana. So utilizados princpios de engenharia para confnar os resduos perigosos
em funo de suas caractersticas de infamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade e
no inertes. A maior parte do lixo industrial brasileiro no recebe tratamento adequado e no se sabe ainda qual
ser o futuro destino das reas contaminadas pela disposio inadequada dos resduos industriais.
M
Incinerao Tipo de tratamento onde ocorre a queima dos resduos em altas temperaturas (acima de
800). Esse processo gera poluentes slidos (cinzas), lquidos (lamas) e gasosos (gases). Aps a queima, a
cinza que sobra disposta em um aterro para resduos perigosos. A emisso de gases deve ser controlada com
fltros adequados e deve atender a padres legais estabelecidos. O processo de incinerao gera dioxinas e
furanos, compostos altamente txicos que so emitidos juntamente com os gases pela chamin do incinerador.
As quantidades formadas no processo de incinerao so mnimas, da ordem de algumas partes por bilho,
no entanto, dada a sua alta toxicidade quando emitida, mesmo abaixo dos nveis legais, deve ser evitada
mediante um rigoroso controle. No Brasil, no h sistemas de medio da emisso de dioxinas e furanos.
M
Co-processamento Operao de reaproveitamento e destinao fnal atravs da queima de resduos
industriais com caractersticas fsico-qumicas compatveis ao processo de produo de clinquer, principal matria-
prima da produo de cimento. Entre os materiais que podem ser co-processados em uma fbrica de cimento
esto: borras oleosas, graxas, lodos de Estao de Tratamento de Efuentes (ETE), tortas de fltrao, borras cidas,
catalisadores usados, pneus, emborrachados, alm de materiais contaminados, como areias, terras, solventes,
serragens, papis, embalagens, entre outros. H controvrsias quanto ao impacto ambiental do co-processamento
exigindo rgidas normas de controle de emisses (ver Construo e Sustentabilidade, pg. 392).
L
I
X
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 404
CIDADES
SAIBA MAIS Frum Lixo e Cidadania (www.lixo
ecidadania.org.br); Cempre (www.cempre.org.br);
Diagnstico do Manejo de Resduos Slidos Urbanos,
2002, 2003 e 2004, do Sistema Nacional de Infor-
mao sobre Saneamento do Ministrio das Cidades
(www.snis.gov.br); O Desafo do Lixo. Dir.: Washing-
ton Novaes. Prod.: Ncleo de Documentrios da TV
Cultura, 2001. (Para adquirir: copiagem@tvcultura.
com.br ou 11- 3874- 3145); Ilha das Flores. Dir.: Jor-
ge Furtado. Prod.: Nora Goulart. Produtora: Casa de
Cinema de Porto Alegre, 1989. (Para adquirir: pro-
ducao@casacinemapoa.com.br ou 51-331-1111).
caro e ainda precrio, os sistemas de tratamento, apesar
de tecnologicamente avanados, so operacionalmente
complicados e custosos. No Brasil, principalmente em
municpios de at 20.000 habitantes, a disposio final do
lixo ainda realizada em lixes a cu aberto e em aterros
sanitrios controlados, em contraposio a uma maior
valorizao dos materiais reciclveis atravs da coleta
seletiva, do reaproveitamento e do empreendedorismo
socioambiental.
Quanto mais desenvolvido (rico) o pas mais lixo
gera. No Brasil, cada cidado produz entre 0,5 a 1 kg de
lixo por dia, dependendo do porte da cidade. Em algumas
cidades dos Estados Unidos e do Japo, a produo chega
a 3 kg por habitante.
Desperdcio de alimentos
A composio do lixo e a forma do seu descarte so
um espelho da sociedade em que vivemos. O alto nvel de
matria orgnica presente no lixo denota o desperdcio,
principalmente de alimentos, nos pases da Amrica do
Sul. Na Europa, nos EUA e no Japo, chama a ateno a
baixa concentrao de matria orgnica, que pode ser
atribuda a fatores culturais, ao uso intensivo de emba-
lagens e a metodologias diferentes de caracterizao da
composio do lixo. No Brasil, ainda temos mais de 50%
do lixo composto de matria orgnica, o que representa
um desperdcio de alimentos, que no condiz com a
pobreza existente.
O QUE TEM NO LIXO DO BRASILEIRO
Composio do lixo no Brasil
Fonte: Panorama Abrelpe 2006.
RECICLAGEM NO BRASIL
As quantidades de lixo produzidas
no Brasil mostram que ainda temos muito
o que reduzir e reutilizar. No entanto,
os ndices de reciclagem e as quantidades
de lixo que ainda so aterradas mostram
que ainda temos muito para reciclar
Evoluo dos ndices de reciclagem
no Brasil de 1999 a 2006
Materiais 1999 (%) 2006 (%)
Papel 16,6 49,5
Papelo 71,0 77,4
Plsticos 15,0 20,0
PET 21,0 47,0
Latas de Alumnio 73,0 96,2
Latas de Ao 35,0 29,0
Vidro 40,0 46,0
Pneus 10,0 58,0
Longa Vida 10,0 23,0
Compostagem 1,5 3,0
Fonte: Cempre, 2007.
P
O
L
U
I
O
U
R
B
A
N
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 405
CIDADES
POLUIO URBANA
HELENA RIBEIRO*
As alteraes introduzidas no ambiente, em decorrncia do processo de urbanizao,
so o que podemos denominar de poluio urbana
*Professora titular do Departamento de Sade Ambiental da Faculdade de Pblica da USP
O ecossistema urbano criado pelo homem e conso-
me energia produzida por ecossistemas naturais, alocando-a
segundo seus prprios interesses. Caracteriza-se por um ele-
vado consumo de energia, tanto somtica (aquela que chega
s populaes pela cadeia alimentar), quanto extra-somti-
ca (aquela que chega pelo aproveitamento de combustveis
fsseis, madeira, vento, gua, movimentos de mar). Cada
vez mais aumenta o uso de energia extra-somtica em
cidades, o que ocasiona a produo de seu subproduto, a
poluio. Como a cidade depende de energia e materiais
externos, ela considerada um ecossistema aberto, em que
continua a haver uma interao entre os diversos elementos
naturais, mas em que h um rompimento de equilbrios e
uma acelerao de processos.
Alm das interaes entre os elementos naturais, nas
cidades h forte interligao dos componentes naturais,
sociais e construdos. Qualquer mudana em um elemento
leva a mudanas nos outros. Assim, a cidade grande
propulsora de impactos sobre a natureza, tanto em sua
rea interna, quanto em reas externas a ela. Portanto,
quando se trata de poluio urbana, no se pode restringir
rea urbanizada.
A poluio urbana mais caracterstica a poluio
do ar. Ela defnida como a alterao da composio da
atmosfera por subprodutos e resduos que resultam da
atividade humana e, s vezes, de fenmenos naturais. A
poluio atmosfrica afeta todos os elementos do clima:
radiao, nebulosidade, neblina, visibilidade, temperatura,
precipitao e umidade. O material particulado em suspen-
so no ar serve de ncleo de condensao e abriga, tambm,
organismos patognicos. Alm disso, a poluio do ar
promove efeitos deletrios sobre a sade humana. Causa,
Marginal Pinheiros, So Paulo (SP), 2001.
L
A
L
O
D
E
A
L
M
E
I
D
A
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
P
O
L
U
I
O
U
R
B
A
N
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 406
CIDADES
O QUE POLUIO?
A palavra poluio deriva do verbo poluir.
O verbo poluir significa, em seu sentido mais
comum, sujar, corromper, tornando prejudicial
sade (Ferreira, Aurlio B. H.,1995). Portanto
uma cidade saudvel tem a ver com ausncia de
poluio e de sujeira, quando se trata da perspec-
tiva ambiental.
Mas, em termos cientfcos, no que consiste
a poluio urbana, ou seja, aquela existente ou
produzida pela cidade? Segundo M. Guimares
Ferri, as alteraes que o homem introduz no
ecossistema ocasionam desequilbrios, ou seja,
levam a novos equilbrios, diferentes dos que exis-
tiam anteriormente. Costumamos chamar essas
alteraes de poluio e so chamados poluentes
os agentes que causam essas alteraes.
tambm, deteriorao do patrimnio pblico (fos, galerias,
monumentos, prdios) e privado, ocasionando despesas com
lavagem, manuteno e reposio bastante elevadas.
Muitos estudos vm sendo realizados para avaliar os
problemas de poluio do ar e seus efeitos no meio ambiente
e nas populaes e avanos signifcativos foram feitos no
entendimento das dinmicas e no controle dos poluentes.
A poluio atmosfrica est intimamente relacionada com
a intensifcao das atividades produtivas durante e aps a
Revoluo Industrial e com o uso de combustveis fsseis e
matrias-primas.
Desde meados do sculo XX, quando se identifcaram
os efeitos nocivos da poluio do ar sade, h programas
de controle de poluio sendo implementados e aperfeio-
ados, em todo o mundo. A poluio de origem industrial,
que consistia no principal problema h algumas dcadas,
vem sendo gradativamente controlada, sobretudo nos
grandes centros urbanos. Por outro lado, tem crescido, de
forma assustadora, o nmero de veculos automotores nas
cidades, fazendo com que os automveis passem a ser os
grandes responsveis pela poluio atmosfrica urbana (ver
Transporte Urbano, pg. 409).
O ar de So Paulo
Os dados da cidade de So Paulo so emblemticos:
as porcentagens dos diferentes poluentes no ar urbano
que provm de emisses veiculares so as seguintes:
Monxido de Carbono (CO) 97,7%; Hidrocarbonetos (HC)
96,8%; xidos de Nitrognio (NOx) 96,3%; Dixido de
Enxofre (SO2) 55,4% e Material Particulado (PM) 50,7%.
Os poluentes primrios podem reagir formando outros
produtos. Os xidos de nitrognio so produzidos nos
processos de combusto a altas temperaturas e tendem
a oxidar na forma de dixido de nitrognio. A radiao
solar provoca reaes fotoqumicas, levando formao
de oxidantes, como poluentes secundrios, especialmente
oznio. Os xidos de nitrognio, juntamente com os xidos
de enxofre, so importantes contribuintes para a formao
de chuvas cidas, que destroem florestas e acidificam
lagos, em amplas reas do globo terrestre. Existem nveis
de referncia para diferenciar a atmosfera poluda da no
poluda. Sob o aspecto legal, esses nveis so denominados
de Padres de Qualidade do Ar.
Os principais efeitos sade, decorrentes da poluio
atmosfrica, so: doenas pulmonares, sobretudo as obs-
trutivas crnicas (bronquite, asma e enfsema), doenas
cardiovasculares, doenas dermatolgicas, doenas gastro-
intestinais, problemas oftlmicos e alguns tipos de cncer.
Alguns efeitos sobre o sistema nervoso tambm foram
detectados aps exposio a altos nveis de monxido de
carbono. Alm disso, efeitos indiretos podem ser apontados
em decorrncia de alteraes climticas provocadas pela
poluio do ar. Um aumento da temperatura atmosfrica
tem impactos na distribuio da fora e da fauna e, conse-
qentemente, infuencia a distribuio de doenas trans-
mitidas por vetores. Tambm o maior calor, detectado nos
centros urbanos de forma associada poluio do ar, pode
ter efeitos negativos sade, sobretudo de idosos. Como as
doenas tm fatores etiolgicos mltiplos, h difculdades
em se avaliar estes efeitos sade, mas inmeros estudos
vm confrmando esses efeitos, tanto nas cidades brasileiras,
quanto no exterior.
Rudo
A poluio sonora outra importante poluio urbana.
Desde a Antiguidade o rudo constitui um problema urbano.
P
O
L
U
I
O
U
R
B
A
N
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 407
CIDADES
J na Roma Antiga foi proibido o trfego de carroas nas
ruas da cidade durante a noite, por causa de reclamaes
de seus moradores que no podiam dormir. Hoje em dia, os
problemas de rudo so infnitamente maiores nas cidades.
Eles derivam do imenso nmero de veculos, avies, trens,
maquinrios de toda ordem (aparelhos de ar-condicionado,
britadeiras, serras eltricas, mquinas industriais etc.),
aparelhos de som, cultos religiosos, festas, latidos de ces,
dentre outros.
O rudo urbano de difcil controle, pois as fontes so
muitas e exigem formas de controle muito diferenciadas. Ele
difere daquele som em alta intensidade, que pode levar a
um trauma acstico, com destruio do rgo auditivo. No
entanto, seus efeitos so muito mais disseminados e em
longo prazo, levando a problemas de sade de diferentes
ordens. Quanto maior a intensidade de eventos ruidosos,
maior a intensidade do som e maior a dose cumulativa
que um indivduo recebe ao longo de sua vida.
O som uma onda em movimento que acontece
quando uma fonte de som coloca em movimento partculas
de ar mais prximas. O movimento do ar se espalha. Para
medir o som se usa uma unidade artifcial, chamada Bell
(B). Bell se inicia no limite da audio e dividida em
dcimos: deci(Bell), que a forma comum de descrever o
som (dB). Os decibis so valores logartmicos, portanto,
no so s somados. Um avio a jato emite 130 dB(A),
uma britadeira 120 dB(A), um concerto de rock 110 dB(A),
um caminho pesado 90 dB(A), um carro 75 dB(A). Geral-
mente as legislaes urbanas estabelecem um limite de 70
dB(A) para reas industriais e 55 dB(A) para ruas em reas
residenciais, pois considera-se que o limite para perturbar o
sono seja de 45dB(A) e que o conforto acstico esteja nesta
faixa at 65 dB(A).
Os principais problemas de sade, decorrentes do
rudo urbano, so fsicos, fisiolgicos e psicolgicos.
Como efeitos fsicos, o rudo pode interferir com outros
sons e prejudicar seres humanos, sobretudo crianas,
idosos e pessoas com defcincia auditiva. H prejuzo na
discriminao de sons, afetando leitura, aprendizado e
comunicao. Como efeitos fsiolgicos h os decorrentes
do estado de prontido e alerta que um rudo mais forte
provoca. Estudos demonstraram aumento da presso
cardaca e da freqncia do pulso, com curta durao.
Entretanto, quando muito freqente, leva a situaes de
stress e presso alta. Estudos epidemiolgicos indicaram
tendncia a aumento de presso em moradores de ruas
muito ruidosas, em comparao a moradores de reas
silenciosas. H estudos que mostram que a exposio ao
PADRES DE QUALIDADE DO AR ADOTADOS NO BRASIL
(g/m3)
Poluente Padro Primrio Padro Secundrio
Monxido de Carbono 40.000 (mdia de 1 hora) Igual ao primrio
10.000 (mdia de 8 horas)
Dixido de Nitrognio 320 (mdia de 24 horas) 190 (mdia de 1 hora)
100 (mdia anual) 100 (mdia anual)
Dixido de Enxofre 365 (mdia de 24 horas) 100 (mdia de 24 horas)
80 (mdia anual) 40 (mdia anual)
Oznio 160 (mdia de 1 hora) Igual ao primrio
Partculas Inalveis 150 (mdia de 24 horas) Igual ao primrio
50 (mdia anual)
Partculas totais em suspenso 240 (mdia de 24 horas) 150 (mdia de 24 horas)
80 (mdia anual) 60 (mdia anual)
Fumaa 150 (mdia de 24 horas) 100 (mdia de 24 horas)
60 (mdia anual) 40 (mdia anual)
Fonte: Cetesb, 2004.
P
O
L
U
I
O
U
R
B
A
N
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 408
CIDADES
rudo pode levar a perturbaes do sono: difculdades em
pegar no sono, alteraes no ritmo e na intensidade do sono,
despertar, aumento da freqncia cardaca de pessoas sen-
sveis. Em longo prazo, essas perturbaes levam a deterio-
rao do humor, cansao, dor de cabea e dor de estmago.
Dentre os efeitos psicolgicos detectados aparecem: maior
prevalncia de sintomas como irritao e depresso, o que
pode gerar problemas de relacionamento familiar.
Poluio visual
A poluio visual outra importante forma de poluio
urbana. Ela produzida, em grande medida, pelo desejo
de comunicao na cidade. So letreiros, faixas, avisos,
pichaes. Em que pese sua possvel utilidade em alguns
casos, quando feita de forma descontrolada, agride as
pessoas, causando perda de relaes de afeto com a prpria
cidade e baixando a auto-estima de seus moradores. um
item importante que vem sendo estudado pela psicologia
ambiental. Alm disso, quando essa comunicao excessiva
faz apelo ao consumo, pode desencadear sentimentos
de frustrao naqueles que no tm renda para adquirir
as mercadorias. Por essa razo, em vrias localidades do
mundo, se probe fazer propaganda em parques pblicos
ou estradas de beleza cnica que deveriam ser locais de
descanso e relaxamento. A falta de manuteno e de limpeza
de edifcios, monumentos e jardins, tambm responsvel
pela poluio visual, assim como o nmero excessivo de
veculos nas ruas que deteriora a paisagem urbana.
Uso do solo
A poluio urbana na gua e no solo est relacionada
com o elevado volume de dejetos produzidos pelos habi-
tantes e pelas atividades econmicas. Estima-se que um
morador urbano gere de 600 gramas a 2 quilos de resduos
slidos por dia. A coleta e o destino fnal destes resduos nem
sempre so bem equacionados. No Brasil, 76% da populao
tem acesso coleta pblica de lixo. Isso equivale a dizer que
24% dos habitantes do destino inadequado a seus resduos,
poluindo os solos e os corpos dgua. Tambm somente
60% da populao brasileira tem acesso rede coletora
de esgotos e apenas 20% do esgoto gerado no Pas recebe
algum tipo de tratamento, gerando um volume grande de
esgotos que so dispostos de forma inadequada nos corpos
dgua e nos solos.
Todos esses fatores tm relao com a forma de
habitar e o uso que se faz do solo urbano. Os construtores
de cidades difcilmente avaliam o impacto cumulativo de
suas aes desenvolvimentistas. Ademais, as aes setoriais
(transporte, tratamento de esgotos, abastecimento de gua,
fornecimento de energia, moradia, comrcio, produo) para
implantao e para enfrentamento dos problemas levam a
esbanjamento de recursos e maior contaminao do ar, da
terra, da gua e da vida.
VOC SABIA?
M
Em 2004, o prefeito da cidade de Nova
Iorque props uma reviso do Cdigo de Rudo
da cidade. Dentre as mudanas propostas, esto
que os policiais podero avaliar o rudo excessivo
por seus prprios ouvidos, sem depender de me-
didores de decibis. So quatro as prioridades
do projeto: ces no podero latir mais que 5
minutos noite e 10 minutos ao dia; aparelhos
de ar-condicionado tero fscalizao rgida;
obras de construo tero tempo restrito de
funcionamento nos fnais de semana e noite;
caminhes que vendem sorvete no podero
tocar mais msicas infantis.
M
Desde o incio de 2007, est em vigor na
cidade de So Paulo a lei da Cidade Limpa, que
tem o objetivo de eliminar a poluio visual no
municpio, proibindo todo tipo de publicidade
externa, como outdoors, painis em fachadas
de prdios, entre outros. A lei caiu nas graas
da populao e tem diminudo muito esse tipo
de poluio na cidade.
SAIBA MAIS Cetesb (www. cetesb.sp.gov.br).
VEJA TAMBM Lixo (pg. 398); Saneamento
Bsico (pg. 303); Indicadores Socioambientais
(pg. 446).
T
R
A
N
S
P
O
R
T
E
U
R
B
A
N
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 409
CIDADES
TRANSPORTE URBANO
ADRIANA RAMOS*
Transporte pblico de qualidade um direito da populao garantido na Constituio,
mas ainda longe de ser alcanado nas grandes cidades brasileiras
*Assessora do Programa de Polticas Pblicas
e Direito Socioambiental do ISA
A mobilidade urbana uma questo crucial no de-
senvolvimento das grandes cidades. No Brasil, o quadro
grave, j que desde a dcada de 1950 o modelo de trans-
porte privilegiou a mobilidade da populao por meio de
transporte individual. A histrica falta de planejamento e
investimento em transporte refete-se, hoje, na m quali-
dade dos servios prestados populao na maior parte
das cidades brasileiras.
Na cidade de So Paulo, maior centro urbano do Pas, so
mais de 5 milhes de carros, uma mdia de um veculo para
cada dois habitantes o que responde por quase 70% da frota
de todo o Estado. O resultado so quilmetros de congestiona-
mento, principalmente nos horrios de pico, quando o tempo
gasto no trajeto da regio central para as extremidades da
cidade chega a duas, trs horas. Segundo avaliao da Associa-
o Nacional de Transporte Pblico (ANTP), o gasto excessivo
de tempo, combustveis, os gastos mdicos com acidentes de
trnsito e a destruio de equipamentos pblicos acarretam
gastos de mais de R$ 5 bilhes por ano, situao insustentvel
do ponto de vista socioambiental e econmico.
Cerca de 60% dos moradores das cidades so usurios
de transporte pblico, apesar das tarifas cobradas atualmen-
te o terem tornado inacessvel para um contingente de 37
milhes de brasileiros. O crescimento do transporte coletivo
clandestino um dos refexos das limitaes dos sistemas
de transporte pblico no Brasil. A pouca mobilidade das
pessoas mais carentes afeta diretamente suas oportunida-
des de emprego e difculta o acesso aos servios bsicos de
atendimento populao, como sade e educao.
As conseqncias da opo da matriz de transporte
individual no Brasil vo da catica circulao nos grandes
centros urbanos ao impacto na qualidade do ar que respira-
mos, passando pelo nmero expressivo de mortos e feridos
no trnsito. Os acidentes de trnsito so a segunda causa de
mortes no Pas, perdendo apenas para as armas de fogo.
Uma nova poltica de mobilidade fundamental para
proporcionar incluso social, gerao de renda e empregos,
paz no trnsito, qualidade do ar, eqidade e democratizao
do uso dos espaos pblicos e das vias.
NA CIDADE SEM MEU CARRO
Todo o ano, na segunda quinzena de setembro,
acontece a Semana de Mobilidade Europia, que
culmina com a campanha Na cidade sem meu carro,
adotada por muitas cidades no mundo. No evento,
espera-se que as autoridades locais participem im-
plementando uma ou mais medidas prticas (novas
ou permanentes) que contribuiro para a substitui-
o do automvel particular por meios de transporte
ambientalmente saudveis (a p, bicicleta, nibus).
No Brasil, a campanha organizada pelo Ministrio
das Cidades (www.cidades.gov.br).
VOC SABIA?
M
A cada ano, 35 mil pessoas morrem em
acidentes de trnsito no Brasil e 120 mil tem
seqelas permanentes.
M
Na cidade de So Paulo, a linha mais movi-
mentada do metr j chegou a registrar mais de
um milho de usurios num nico dia.
SAIBA MAIS Instituto Polis (www.polis.org.br/
publicacoes/artigos/naza1.html).
VEJA TAMBM Poluio Urbana (pg. 405); Trans-
porte (pg. 336); Desafo do Sculo (pg. 373).
ZOOM
C
I
D
A
D
E
S
S
U
S
T
E
N
T
V
E
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 410
CIDADES
CIDADES SUSTENTVEIS
ANDR TRIGUEIRO*
*Jornalista da Globo News, comentarista da CBN, com Ps-graduao em Gesto Ambien-
tal pela COPPE/UFRJ, professor e criador do curso de Jornalismo Ambiental da PUC/RJ
A maioria da humanidade j vive em cidades. De acordo
com a ONU, a expressiva migrao de chineses do campo
para as reas urbanas contribuiu enormemente para a nova
confgurao geogrfca da populao mundial neste incio
de sculo XXI. No Brasil, mais de 80% dos habitantes vivem
em cidades. Infelizmente, em boa parte dos casos, o fen-
meno da urbanizao se d de forma acelerada e catica,
comprometendo a qualidade de vida das populaes.
A falta de planejamento de longo prazo, a descontinui-
dade dos projetos, a m qualidade dos gestores pblicos e a
desinformao da sociedade sobre as solues encontradas
em diversas partes do mundo para problemas urbanos
comuns explicam em parte a perda expressiva de qualidade
de vida, a desesperana da populao e a percepo de que,
em alguns casos, a situao beira o caos (ver Urbanizao,
pg. 380).
O conceito de cidade sustentvel remete basicamente
a um sistema em equilbrio onde o consumo de matria-
prima e energia no esgote os recursos disponveis. O
planejamento urbano prestigiado e instigado a promover
a adequao dos diversos interesses existentes na direo
do conforto ambiental, sem prejuzo do desenvolvimento.
Embora cada cidade seja nica, algumas solues susten-
tveis poderiam ser replicadas em municpios de diferentes
tamanhos ou realidades. Vejamos alguns exemplos do que j
existe de interessante nesse sentido no Brasil e no mundo.
Lixo
atribuio dos municpios promover a coleta, o
transporte e a destinao adequada dos resduos slidos
urbanos. A separao dos materiais reciclveis (que respon-
dem em mdia por 40% de todo o lixo), a transformao
do entulho em subprodutos para a construo civil como
pedra, areia e brita (tal como faz Belo Horizonte) e o
aproveitamento energtico do gs metano que liberado
pela parte orgnica do lixo (tal como faz So Paulo) so
medidas que mudaram para melhor a realidade das cidades
(ver Lixo, pg. 398).
Coletor de energia solar no povoado S. Francisco, Riacho do Jacu (BA).
N
I
E
L
S
A
N
D
R
E
A
S
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
C
I
D
A
D
E
S
S
U
S
T
E
N
T
V
E
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 411
CIDADES
ZOOM
SOLUES COMUNITRIAS
TERESA URBAN*
O bairro de Santa Felicidade, em Curitiba (PR), famoso centro gastronmico de comida italiana, tam-
bm ocupa um lugar muito especial na paisagem da regio. Abriga quase 60% das reas verdes nativas do
municpio, em bosques ainda bem conservados, com inmeras fontes e nascentes que formam o Rio Casca-
tinha, afluente do Rio Barigui, um dos mais importantes da cidade. Em 2002, por iniciativa de organizaes
comerciais, industriais, religiosas e de lazer do bairro, os moradores reuniram-se para discutir o futuro de
Santa Felicidade. Uma das metas estabelecidas na Carta Compromisso de Santa Felicidade foi a despoluio
do rio e a proteo das nascentes.
Consciente do forte interesse sobre os terrenos da regio, o grupo buscou alternativas que tornassem a
proteo a essas reas to atraente quanto o mercado imobilirio. E encontraram a resposta num mecanismo
at ento indito: a criao de Reservas Particulares do Patrimnio Natural (RPPNs) de mbito municipal. A
partir da concordncia dos proprietrios, esses terrenos passam categoria de reas de proteo averbadas
junto ao Cartrio de Imveis, garantindo sua perenidade. Uma lei de incentivos criada pela Prefeitura Mu-
nicipal de Curitiba permite que o potencial construtivo destas reas possa ser transferido para outros locais,
conciliando os interesses econmicos e de preservao.
At agora, as RPPNs somam 20 mil metros quadrados. Cada proprietrio de rea averbada pode negociar
o potencial construtivo (aquilo que vai deixar de construir para proteger o bosque) com construtores ou
proprietrios em outras reas da cidade, num valor praticamente equivalente ao preo de mercado da rea.
O esforo dos moradores no parou por a. H uma campanha permanente de educao nas escolas e de
incentivo para que outros proprietrios juntem-se ao programa: a meta de 100 mil m2 de RPPN at 2008.
Esse texto parte da matria gua para toda a vida, publicada na revista Terra da Gente, de outubro de 2006.
*Jornalista
Bairro Santa Felicidade, Bosque Italiano ao fundo Nova Curitiba, Curitiba, 11/03/2002.
C
A
R
L
O
S
R
U
G
G
I
/
S
M
C
S
C
I
D
A
D
E
S
S
U
S
T
E
N
T
V
E
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 412
CIDADES
Transporte pblico de qualidade (trem,
metr, bonde e barcas)
Signifca menos automveis, nibus e vans nas ruas,
menos engarrafamentos e poluio. A expanso das ciclovias
e o uso crescente de bicicletas como meio de transporte
transformou positivamente a rotina dos moradores de
cidades como Bogot, Berlim e Barcelona. Em contrapartida,
onde a multiplicao desordenada dos automveis colapsou
a mobilidade das pessoas, o pedgio urbano tem aparecido
como soluo radical e impopular, porm, eficiente no
repasse dos recursos destinados a financiar transporte
pblico de qualidade. O peggio urbano j restringe o
acesso dos motoristas s partes mais movimentadas de
Cingapura, Oslo e Londres. A Prefeitura de Nova Iorque j
anunciou que tambm ter o seu em breve (ver Transporte
Urbano, pg. 409).
Coletores solares
Estimular o uso de coletores solares para aquecer a
gua do banho signifca promover o incremento da renda
das populaes pobres (onde a parte da conta de luz alusiva
ao uso de chuveiro eltrico de 30% em mdia) e reduzir
o impacto desses aparelhos sobre a produo de energia
nacional (estima-se que 7% de toda a energia produzida
no Brasil tenha como destino o chuveiro eltrico). Vrias
cidades brasileiras (So Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre
etc.) j discutem a convenincia de obrigar certas edifcaes
a terem coletores solares (ver Matriz Energtica Brasi-
leira, pg. 344).
Biodigestores
Os biodigestores j vem sendo usados no campo para
transformar dejetos de animais em energia. Mas possvel
usar esse equipamento de baixo custo que armazena o
esgoto num recipiente anaerbio onde as bactrias con-
somem os nutrientes existentes produzindo biogs em
comunidades de baixa renda afastadas das redes de coleta
ou que tenham seus esgotos lanados in natura no meio
ambiente. Petrpolis, na regio serrana do Rio de Janeiro,
a capital brasileira dos biodigestores, graas parceria fr-
mada entre a prefeitura, o governo do Estado, a companhia
de guas e esgotos e a ONG que introduziu essa tecnologia
na regio, inspirada no modelo chins.
SAIBA MAIS Mundo Sustentvel site oferece aces-
so gratuito ao programa Cidades e Solues, exibido
semanalmente na Globo News, alm de apresentar
os sites de pesquisa de cada um dos assuntos citados
(www.mundosustentavel.com.br); Trigueiro, Andr.
Mundo Sustentvel Abrindo Espao na Mdia para
um Planeta em Transformao, Editora Globo, 2005;
Trigueiro, Andr (coord.). Meio Ambiente no sculo
21, Editora Sextante, 2003.
Licitaes sustentveis
As compras pblicas governamentais representam
aproximadamente 10% do PIB brasileiro. Em vrias cidades
do mundo os editais de licitao j so feitos de modo a
privilegiar os fornecedores que, alm do melhor preo, ofe-
ream produtos ou servios que consumam menos energia
e matria-prima, que emitam menos gases estufa ou que
no explorem mo-de-obra infantil. No Brasil, So Paulo e
Porto Alegre j realizam licitaes sustentveis.
Greenbuilding
O gestor pblico municipal tem o poder de estimular
as contrues sustentveis, ou seja, aquelas que promovem
o uso de materiais menos impactantes (madeira certifcada,
entulho reciclado etc.), a aplicao de tecnologias que redu-
zam o consumo de energia e permitam o aproveitamento de
gua de chuva ou o reso das guas servidas, a ventilao e
a iluminao naturais dos ambientes etc. Uma das formas
de alcanar esse objetivo certifcar as construes que
atendam a um padro mnimo de exigncias, oferecendo
um selo verde (ver Construes e Sustentabilidade,
pg. 392).
ICMS ecolgico
possvel identifcar as vocaes econmicas dos mu-
nicpios sem descuidar da proteo dos mananciais de gua
doce e da biodiversidade. O repasse do ICMS Ecolgico aos
municpios comprometidos com a proteo de importantes
ecossistemas um dos instrumentos comprovadamente
efcientes de gesto sustentvel (ver Reforma Tributria,
pg. 451).
MODELOS DE
DESENVOLVIMENTO
Agricultura Sustentvel, pg. 414
Cincia e Tecnologia, pg. 423
Comrcio Justo, pg. 425
Consumo Sustentvel, pg. 428
Contabilidade Ambiental, pg. 431
Cooperao Internacional, pg. 432
Crescimento Econmico, pg. 433
Desenvolvimento Humano, pg. 435
Desenvolvimento Sustentvel, pg. 439
Economia Ecolgica, pg. 441
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 413
O Pas foi um dos que mais cresceu economicamente no sculo
XX, mas tem hoje uma das maiores concentraes de renda do
mundo e elevadas taxas de pobreza, violncia e at trabalho
escravo. Apesar do parque industrial diversifcado, no conse-
guiu competitividade no que exige inovao. Em grande parte,
pela falta de investimento em educao e pesquisa. Embora te-
nha melhorado seu ndice de Desenvolvimento Humano, o Pas
no conseguiu eliminar o analfabetismo e s 25% da populao
com mais de 15 anos tm domnio da leitura e escrita. A conscincia socioambiental
dos empresrios ainda d os primeiros passos. Este captulo mostra que, mesmo com
alto nvel tecnolgico e produtividade, o agronegcio vem expandindo-se custa
das forestas e do Cerrado, do desemprego, contaminao e desperdcio de gua,
mostras da opo por um desenvolvimento insustentvel. Mas a sociedade comea
a organizar-se na busca da sustentabilidade e justia social, multiplicando prticas
como a agricultura orgnica e o comrcio justo.
Economia Solidria, pg. 443
Educao, pg. 444
Indicadores Socioambientais, pg. 446
Poltica Ambiental, pg. 448
Reforma Tributria, pg. 451
Responsabilidade Socioambiental Corporativa, pg. 452
Riscos e Acidentes Ambientais, pg. 456
Servios Ambientais, pg. 459
Socioambientalismo, pg. 461
Turismo Sustentvel, pg. 469
A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
A
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
414
AGRICULTURA SUSTENTVEL
EDUARDO EHLERS*
A insatisfao com os graves impactos ambientais provocados pela agricultura moderna
vem estimulando a busca de uma agricultura mais sustentvel. O que se quer so sistemas produtivos
que, simultaneamente, conservem os recursos naturais e forneam alimentos mais saudveis,
sem comprometer os nveis de produo j alcanados
*Engenheiro agrnomo e doutor em Cincia Ambiental pela USP,
Diretor de Extenso das Faculdades Senac * ehlers@uol.com.br
Existem dezenas de definies para se explicar o que
agricultura sustentvel. Deixando de lado as nuanas,
pode-se dizer que todas transmitem a idia de um
sistema produtivo que garanta: manuteno, a longo
prazo, dos recursos naturais e da produtividade agrcola;
o mnimo de impactos adversos ao ambiente; otimizao
da produo com um mnimo de insumos externos; sa-
tisfao das necessidade humanas de alimentos e renda;
atendimento s necessidades sociais das famlias e das
comunidades rurais.
A noo de agricultura sustentvel se espalhou, no fnal
do sculo passado, por vrias partes do Planeta, ingressando
no rol dos principais ideais contemporneos. Mas essa
noo bem mais antiga: nas dcadas de 1920 e 1930, a
oposio ao padro qumico, moto-mecnico e gentico da
agricultura moderna j havia impulsionado o surgimento
de algumas vertentes alternativas, que valorizavam o
potencial biolgico e vegetativo dos processos produtivos.
Na Europa, surgiram as vertentes biodinmica, orgnica e
biolgica e, no Japo, a agricultura natural.
Durante dcadas, essas vertentes se mantiveram
margem da produo agrcola mundial e da comunidade
cientfca agronmica. Eram consideradas retrgradas e
sem validade cientfca. Mas, no fnal dos anos 1960, tor-
naram-se mais evidentes os danos ambientais provocados
pela agricultura moderna. A constatao de que os ali-
mentos e o leite materno continham resduos de produtos
qumicos utilizados na agricultura soou como um alarme
para a populao e para a comunidade cientfca. Foi nesse
contexto que a hostilidade em relao s vertentes alter-
E
P
I
T
A
C
I
O
P
E
S
S
O
A
/
A
E
Produo orgnica de hortalias na Fazenda Yamaguishi, Jaguarina (SP), 2001.
A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
A
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 415
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
O QUE FOI A REVOLUO VERDE?
Durante a primeira metade do sculo XX, os agrotxicos, os fertilizantes qumicos, a motomecanizao e
o melhoramento gentico fomentaram uma srie de mudanas na agricultura e no setor produtor de insumos.
Ao mesmo tempo, a cincia agronmica tambm avanava, pesquisando e potencializando o emprego dessas
inovaes. No fnal da dcada de 1960 e incio da dcada de 1970, os avanos do setor industrial agrcola e das
pesquisas nas reas qumica, mecnica e gentica culminaram com um dos perodos de maiores transformaes
na histria recente da agricultura e da agronomia: a Revoluo Verde.
A Revoluo Verde fundamentava-se na melhoria do desempenho dos ndices de produtividade agrcola, por
meio da substituio dos moldes de produo locais, ou tradicionais, por um conjunto bem mais homogneo de
prticas tecnolgicas, isto , de variedades vegetais geneticamente melhoradas, muito exigentes em fertilizantes
qumicos de alta solubilidade, agrotxicos com maior poder biocida, irrigao e motomecanizao. Este conjunto
tecnolgico viabilizou, na Europa e nos EUA, as condies necessrias adoo, em larga escala, dos sistemas
monoculturais.
Dentre essas inovaes tecnolgicas, o avano da engenharia gentica aplicada agricultura foi, certamente,
o ponto crucial da Revoluo Verde. O prprio termo deriva da capacitao cientfca para o desenvolvimento de
variedades vegetais melhoradas, tambm chamadas de variedades de alto rendimento, aptas a apresentar
elevados nveis de produtividade. Essas prticas possibilitaram, inicialmente, maior independncia em relao s
condies naturais do meio, como tambm a possibilidade de modifcar e controlar os processos biolgicos que
determinam o crescimento e o rendimento das plantas. Nos EUA, por exemplo, algumas variedades de trigo e de
arroz chegaram a apresentar rendimento cinco vezes superior aos de variedades tradicionais.
No que se refere ao aumento da produo total da agricultura, a Revoluo Verde foi, sem dvida, um sucesso.
Entre 1950 e 1985 a produo mundial de cereais cresceu 2,7% ao ano, a produo alimentar dobrou e a dispo-
nibilidade de alimento por habitante aumentou em 40%. Esses resultados pareciam mostrar que o problema da
fome no mundo seria superado pelas novas descobertas agronmicas.
Rapidamente a Revoluo Verde espalhou-se por vrios pases, quase sempre apoiada por rgos governamentais,
pela grande maioria da comunidade agronmica e pelas empresas produtoras de insumos. Mas a euforia das grandes
safraslogo cederia lugar a uma srie de preocupaes relacionadas tanto a seus impactos socioambientais quanto
sua viabilidade energtica. Dentre as conseqncias ambientais desse padro agrcola destacam-se: a eroso e a perda
da fertilidade dos solos; a destruio forestal; a dilapidao do patrimnio gentico e da biodiversidade; a
contaminao dos solos, da gua, dos animais silvestres, do homem do campo e dos alimentos.
nativas foi aos poucos se transformando em curiosidade.
Nos anos 1990, as incertezas dos consumidores diante
do mal da vaca louca e dos produtos geneticamente
modifcados contriburam para a ampliao do consumo
de alimentos provenientes de sistemas produtivos cer-
tifcados pelas vertentes alternativas, particularmente
pela agricultura orgnica. Hoje os produtos orgnicos
esto espalhados por restaurantes e supermercados dos
principais centros urbanos.
Claro, o avano dessas vertentes no a nica forma de
se atingir uma agricultura mais sustentvel. Qualquer siste-
ma de produo agropecuria que promova a conservao
dos recursos naturais particularmente do solo e da gua
e que consiga reduzir o uso de insumos sintticos nocivos
sade e ao ambiente estar mais prximo desse ideal. Outro
princpio importante a diversifcao dos cultivos. Hoje se
sabe que quanto maior o nmero de espcies presentes em
um determinado ecossistema, maior ser a sua estabilidade
A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
A
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
416
COMO DIVERSIFICAR OS SISTEMAS PRODUTIVOS?
H diferentes meios de se promover a diversifcao de um agroecossistema, desde uma simples consorciao
entre duas culturas at os complexos sistemas agroforestais, que visam a convivncia de espcies forestais nativas
com as culturas de interesse comercial.
Por meio do plantio consorciado, os agricultores benefciam-se da capacidade dos sistemas de cultivo de
reutilizar seus prprios estoques de nutrientes. Sempre que duas ou mais espcies so intercaladas, as interaes
resultantes podem ter efeitos mutuamente benfcos e reduzir efetivamente a necessidade de insumos externos.
Nas consorciaes e nas rotaes de culturas, os recursos disponveis gua, nutrientes, luz, entre outros so
utilizados de forma mais efciente. Aliadas ao retorno de matria orgnica ao solo, esses sistemas contribuem para
manter sua estrutura fsica, ajudam a reduzir a eroso e, conseqentemente, melhoram a fertilidade dos solos. A
combinao desses fatores leva, invariavelmente, a aumentos de produtividade das lavouras. Ao mesmo tempo, os
sistemas diversifcados diminuem muito a necessidade de insumos externos, como os agrotxicos e os fertilizantes
nitrogenados. Possibilitam, desse modo, a eliminao de uma parte signifcativa dos gastos de investimento e de
custeio necessrios manuteno do padro tecnolgico moderno.
Outra forma de diversifcao a introduo de sistemas agroforestais ou agrosilvicultura. Consiste em um
sistema de manejo forestal que visa conciliar a produo agrcola e a manuteno das espcies nativas, por meio
de capinas seletivas das espcies que j cumpriram seu papel fsiolgico na sucesso e podas de rejuvenescimento
para revigorar e acelerar o sistema produtivo. Em vrias partes do Pas, particularmente na Floresta Amaznica, a
adoo desses sistemas tem demonstrado vantagens econmicas e ambientais em relao aos sistemas de cultivo
convencionais. Em quase todas as experincias observa-se o aumento de matria orgnica nos solos, a reduo da
eroso laminar e em sulcos e o aumento da diversidade de espcies (ver Manejo, pg. 285).
SAIBA MAIS Planeta Orgnico (www.planeta
organico.com.br).
VEJA TAMBM Solo (pg. 333); Consumo Sus-
tentvel (pg. 428); Biossegurana (pg. 258).
e menor a necessidade de insumos externos. fundamental,
portanto, que se promova a substituio progressiva dos sis-
temas agrcolas muito simplifcados, como as monoculturas,
por sistemas produtivos muito mais diversifcados.
As vantagens ecolgicas dos sistemas produtivos di-
versifcados so geralmente acompanhadas por vantagens
econmicas: alm da reduo da compra de insumos, os
sistemas diversifcados propiciam colheitas de diferentes
cultivos em pocas do ano alternadas. Assim os ingressos de
renda agrcola so distribudos de forma mais homognea
durante o ano. A quebra de uma safra, ou a queda de preo
de uma determinada cultura, no causa tantos problemas
quanto nas propriedades monoculturais.
Entretanto, a transio a um novo padro agrcola mais
sustentvel no depende, simplesmente, da adoo de
um conjunto de prticas menos prejudiciais ao ambiente.
Cada agroecossistema apresenta caractersticas distintas,
exigindo, portanto, solues especfcas a serem defnidas
localmente. Uma agricultura mais sustentvel tende a
exigir muito mais conhecimento sistmico, isto , um
conjunto de informaes que possibilite a compreenso
sobre as interaes entre os diversos componentes de um
agroecossistema.
O anseio de uma agricultura sustentvel tambm
jamais ser atingido por meio de aes isoladas, deste ou
daquele setor. As solues para os problemas ambientais
que caracterizam a agropecuria brasileira passam, neces-
sariamente, por um amplo processo de negociao entre
A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
A
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 417
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
QUEM FAZ A HISTRIA
JOS LUTZEMBERGER
Nos anos 1970 e incio dos anos 1980, cresciam as evidncias sobre os impactos socioambientais da moderni-
zao agrcola. No Brasil, um dos principais crticos desse perodo foi o engenheiro agrnomo Jos Lutzemberger.
Em 1976, Lutzemberger lanava o Manifesto ecolgico brasileiro: fm do futuro?, uma crtica severa aos problemas
ecolgicos causados pelas atividades agropecurias. O fato de Lutzemberger ter trabalhado durante quinze anos
no setor agroqumico dava mais credibilidade s suas ponderaes, uma vez que conhecia de perto o alvo de suas
crticas. Alm de questionar o padro produtivo vigente, Lutzemberger, falecido em 2002, foi um importante
defensor das vertentes alternativas. Suas idias infuenciaram muitos profssionais, pesquisadores, produtores e
at mesmo a opinio pblica em geral.
Nos anos 1980, surgiram no Pas dezenas de organizaes no-governamentais dedicadas promoo das
vertentes alternativas, como o Instituto Biodinmico e a Associao de Agricultura Orgnica, ambas em So Paulo.
Uma das iniciativas mais conhecidas no Pas a da Rede de Projetos e Tecnologias Alternativas (PTA). A Rede
formada por mais de vinte organizaes, dedicadas ao fortalecimento da agroecologia e da agricultura familiar.
Seu trabalho tornou-se uma referncia importante para organizaes de produtores rurais e para rgos pblicos
de pesquisa, de ensino e de extenso rural em vrios estados brasileiros.
SAIBA MAIS Fundao Gaia (www.fgaia.org.br).
R
I
C
A
R
D
O
C
H
A
V
E
Z
/
Z
E
R
O
H
O
R
A
/
A
E
Lutzenberger criou a Fundao Gaia em 1987 e foi secretrio especial do Meio Ambiente, de 1990 a 1992.
A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
A
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
418
O AGRONEGCIO E OS PREJUZOS SOCIOAMBIENTAIS
AMALIA SAFATLE E FLAVIA PARDINI*
*Editoras fundadoras da Revista Pgina 22
* amalia@pagina22.com.br; favia@pagina22.com.br
O agronegcio responde por um tero do PIB bra-
sileiro, 40% das exportaes e 30% dos empregos. Com
clima privilegiado, solo frtil, disponibilidade de gua,
rica biodiversidade e mo-de-obra qualifcada, o
Pas capaz de colher at duas safras anuais de gros.
Nenhuma nao teve crescimento to expressivo na
agropecuria quanto o Brasil nos ltimos anos. Em
2006, foi responsvel por 93% do supervit comercial
brasileiro de 46 bilhes de dlares.
As palavras so do Ministrio da Agricultura e
correspondem aos fatos. Essa , no entanto, apenas
metade da histria. H uma srie de questes em
aberto: Como se distribui a riqueza gerada no cam-
po? Que impactos o agronegcio causa, na forma de
desemprego, concentrao de renda e poder, conta-
minao da gua e do solo e destruio de biomas?
Quanto tempo a bonana vai durar, tendo em vista a
exausto dos recursos naturais? A ameaa parece s
crescer com a febre dos biocombustveis, do etanol de
cana-de-acar ao biodiesel de soja.
A modernizao da atividade agrcola, necessria
para compensar a perda de rentabilidade com a queda
nos preos das commodities, elevou a produtividade
das principais monoculturas exportadoras nacionais. A
tal ponto que o Pas tem difculdades nas negociaes
internacionais recusa-se a incorporar exigncias
ambientais e sociais aos acordos comerciais e se
arrisca a perder mercados. Muitos vem o agrone-
gcio brasileiro, com mquinas agrcolas munidas
de computador de bordo, como de Primeiro Mundo.
Boa parte do resto do Pas, entretanto, continua no
Terceiro Mundo: cerca de 3 milhes de famlias rurais
vivem em situao de extrema pobreza, com menos
de 1 dlar per capita ao dia.
A agricultura de grande escala gera pouco em-
prego e causa um xodo rural que os centros urbanos
no so capazes de absorver com dignidade. No estudo
Transformaes Tecnolgicas e a Fora de Trabalho da
Agricultura Brasileira, pesquisadores da Fundao
Seade e da Unicamp mostram que na dcada de
1990 houve uma diminuio de 21,5% na demanda
de fora de trabalho agrcola em 30 culturas, sendo
21% na de gros. Eles estimam que o desemprego
rural poder oscilar entre 10% e 13% da Populao
Economicamente Ativa (PEA) em 2010.
A agricultura exportadora extremamente
produtiva e eficiente, mas permite a existncia de
latifndios improdutivos e a especulao fundiria.
Os proprietrios lucram com o fato de que, devido
boa performance do agronegcio, o preo de
suas terras sobe e alimenta o mpeto especulativo
no campo. A soja, por exemplo, conhecida como
um dos elos da perversa cadeia que se inicia com
os madeireiros e termina com a agricultura, e que
empurra o chamado Arco do Desmatamento para
dentro da Amaznia.
Outros pases trataram de solucionar o pro-
blema fundirio com mecanismos de tributao da
propriedade territorial ou a distribuio de terras
aos camponeses. Mas o Brasil opta por no colocar
em prtica sua lei agrria, que permite taxar mais as
terras improdutivas e implementar uma poltica de
desapropriaes.
Alm de gerar mais empregos e de forma mais
barata, a agricultura familiar responsvel por boa
parte da produo de alimentos no Brasil. Segundo
dados da Secretaria de Agricultura Familiar do Minis-
trio do Desenvolvimento Agrrio, responde por 67%
do feijo consumido no Pas, 58% da carne suna, 54%
do leite e 49% do milho. E ocupa cerca de 70% da
mo-de-obra no campo. Aos poucos, os agricultores
familiares encontram seu nicho: a produo de org-
nicos, que respeita elementos sociais e ambientais, e
cujo mercado cresce internacionalmente.
A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
A
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 419
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
AGRICULTURA E EROSO DA BIODIVERSIDADE
Os impactos provocados pela agropecuria moderna reduzem drasticamente a diversidade de espcies no meio
rural. Mas o principal fator de degradao da biodiversidade a especializao dos sistemas produtivos, base desse padro
tecnolgico. Historicamente, a humanidade ampliou a diversidade gentica das plantas cultivadas por meio de cruzamentos
e da seleo de variedades mais adaptadas s condies locais. Entretanto, desde o incio do sculo passado, essa prtica
vem sendo progressivamente abandonada, muitas variedades foram extintas e outras so raramente encontradas.
Atualmente, apenas seis variedades de milho so responsveis por mais de 70% da produo mundial de
gros. A dieta das sociedades modernas limita-se a aproximadamente 100 espcies, com forte predominncia de
quatro: trigo, arroz, milho e batata. Mas, estima-se que, no curso da histria, a humanidade tenha utilizado cerca
de 7.000 espcies de plantas comestveis. No obstante, so conhecidas aproximadamente 75.000 espcies que
poderiam ser includas nos nossos cardpios, muitas delas com vantagens sobre as que hoje predominam (ver
Mandioca, Raiz do Brasil, pg. 420).
Na produo vegetal e animal em larga escala, a homogeneidade gentica muito mais compatvel com a
maximizao da efcincia produtiva, pois permite a padronizao das prticas de manejo. O problema que as
perdas de diversidade provocadas pela padronizao dos sistemas produtivos tm graves conseqncias. Alm da
diminuio do nmero de espcies e da variedade gentica das plantas utilizadas, tambm ocorre uma dramtica
reduo do nmero das espcies de apoio, como bactrias fxadoras de nitrognio, fungos que facilitam a absoro
de nutrientes pela associao com micorrizas, predadores de pragas, polinizadores e dispersores de sementes etc.
Enfm, mngua a base gentica de inmeras espcies que coevoluiram durante sculos ou milnios e das quais se
poderia aproveitar genes resistentes ou adaptativos.
O plantio de reas extensas com plantas geneticamente uniformes em lugar de espcies geneticamente varia-
das torna a produtividade agrcola extremamente vulnervel a fatores limitantes da produo. O uso intensivo de
variedades de alto rendimento na agricultura leva, portanto, reduo da diversidade funcional, comprometendo
a resistncia e a resilincia dos agroecossistemas. Isso aumenta a sua vulnerabilidade ao ataque de pragas, secas,
mudanas climticas e outros fatores de risco.
Fazenda no municpio de Querncia (MT), 2003.
A
N
D
R
V
I
L
L
A
S
-
B
A
S
/
I
S
A
A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
A
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
420
MANDIOCA, RAIZ DO BRASIL
LAURE EMPERAIRE*
Da farinha s novas tecnologias, passando pelo po
de queijo, a mandioca atravessa a histria, o territrio e a
sociedade brasileira. Mas, apesar de ser cultivada do norte
ao sul do Brasil, tem suas peculiaridades regionais, seus
tipos, nomes e usos. A alta diversidade biolgica e cultural
associada faz da mandioca um modelo para entender as
atuais dinmicas da agrobiodiversidade.
A mandioca, cujo nome cientfco Manihot escu-
lenta, originria do sudoeste da Amaznia. H 4.000
anos, seu cultivo era difundido na Amrica tropical,
mas as primeiras etapas de sua domesticao so
provavelmente mais antigas. Foi bem mais tarde, no
sculo XVIII, que a mandioca foi introduzida na frica e
depois na sia, tornando-se, l tambm, um cultivo de
primeira importncia. Hoje, a mandioca tanto um cultivo
industrial como um cultivo de subsistncia.
So reconhecidos dois grandes grupos, as mandio-
cas mansas e as bravas, dependendo do teor em cido
ciandrico liberado. O primeiro grupo encontra-se mais
representado na Amaznia do oeste e no centro do
Brasil e o segundo no Nordeste e na Amaznia central.
Os povos indgenas que cultivam as variedades de man-
dioca brava desenvolveram conhecimentos, tecnologias
e objetos elaborados para eliminar sua toxicidade.
na Amaznia que a mandioca revela toda sua
riqueza biolgica e cultural. Povos indgenas como os
Huambisa (Jivaro) do Equador cultivam uma centena
de variedades mansas; no Alto Rio Negro, no Brasil,
os Baniwa, Tukano, Desana, Bar, e outros cultivam
tambm mais de cem variedades bravas, cada uma
com suas caractersticas e seu nome. Em uma nica
roa do Alto Rio Negro, pode haver at 40 variedades de
mandioca. Servem para preparar diversos tipos de fari-
nha, beijus, mingaus, cachiris (bebidas fermentadas),
condimentos. produzida para o consumo familiar e
para a venda. A agricultora indgena detentora de
um saber aprofundado sobre a diversidade das plantas
cultivadas na sua roa, especialmente as mandiocas.
Uma roa bem cuidada e com muitas variedades
motivo de orgulho. Uma variedade no simplesmente
plantada, "criada". As mandiocas em uma roa tm
que ser alegres, bem cuidadas, sem passar sede, por
isso se planta abacaxis e cajus junto. A diversidade dos
*Botnica, pesquisadora do Institut de Recherche pour le Dveloppement
(IRD Frana). * emperair@uol.com.br
VOC SABIA?
M
Desde o incio do sculo XX, se perdeu 75%
da diversidade gentica de plantas cultivadas.
Por exemplo, nos EUA, 85% das 7.000 varie-
dades de ma desapareceram.
M
A diversidade gentica de mandioca
encontrada em uma roa do Alto Rio
Negro maior que a diversidade mantida
nas colees do Centro Internacional de
Agricultura Tropical em Cali (CIAT).
M
H cerca de 200.000 amostras de plantas
nos bancos de germoplasma no Brasil, mas
75% delas se referem a plantas exticas.
Lavagem de tubrculos de mandioca.
I
R
D
-
E
M
P
E
R
A
I
R
E
,
A
L
T
O
R
I
O
N
E
G
R
O
(
A
M
)
,
1
9
9
5
A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
A
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 421
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
cultivos est inscrita tambm nos mitos de origem das
plantas cultivadas e, portanto, da humanidade.
Mas de onde vem tal diversidade? Na ocasio de visi-
tas nos arredores, ou viagens mais longnquas a parentes
ou amigos, uma variedade desconhecida em uma roa
sempre desperta interesse. Na viagem de volta, so trazidas
manivas (estacas) desta no fundo da canoa. Mas a diver-
sidade observada no resulta s desses intercmbios. Na
roa, a mandioca pode produzir sementes que, depois de
um tempo, germinaro dando origem a novas variedades
que sero, ou no, incorporadas ao acervo. H um manejo
dinmico da diversidade: a diversidade viaja e um bem
coletivo, construdo com os aportes de cada um.
E por qu? As variedades respondem a critrios
diversos - cor, gosto, facilidade de descascar, teor em
fcula, tempo de maturao, entre outros -, que se
sobrepem ao critrio de produtividade. A diversidade
permite plantar em diversas condies ecolgicas, resis-
tir a pragas e predadores, um fator de estabilidade dos
sistemas agrcolas e, portanto, de segurana alimen-
tar. Ela tem tambm uma dimenso cultural.
H de manter essa diversidade pois, quando se
deixa perder variedades, alm de fragilizar os sistemas
de produo, se perde um capital biolgico e cultural
feito de anos de conhecimentos, experincias e prticas
dos agricultores tradicionais. Esse patrimnio est sob a
ameaa de eroso gentica e cultural. Se, em alguns
casos, a conservao ex situ pode permitir resguardar
variedades, h de se implementar formas locais de uso,
valorizao e conservao dessa agrobiodiversidade.
SAIBA MAIS Assessoria e Servios a Projetos em
Agricultura Alternativa (AS-PTA) (http://www.aspta.
org.br); Brush, Stephen B. Genes in the feld. IDRC/
IPGRI/Lewis Publishers, 2000 (www.idrc.ca/en/ev-
9392-201-1-DO_TOPIC.html); Cavalcanti, N.; Cardoso,
C. E. L.; Cereda, M. P.; Schiel, H. C. Mandioca: o po do
Brasil. Embrapa, 2007.
O MANEJO DO ESPAO AGRCOLA
A agricultura de queima e pousio uma prtica complexa que envolve trs principais etapas : a
transferncia dos nutrientes estocados na biomassa at o solo com a derrubada e a queima das rvores, o
aproveitamento desses nutrientes pelo cultivo das clareiras assim constituidas e, por fm, a recolonizao
dos espaos abertos pela foresta. Pela diversidade das tcnicas e dos instrumentos utilizados, a escolha
das plantas cultivadas, a organizao social dos trabalhos e o manejo das capoeiras, essa agricultura
refete tanto condies ecolgicas especfcas quanto escolhas culturais.
Na regio do Rio Negro, cada famlia abre cada ano uma roa de menos de meio hectare, na qual o
principal cultivo ser a mandioca com suas diversas variedades. Progressivamente, a roa ser enriquecida
com espcies frutferas de crescimento e produo rpida e depois abandonada regenerao forestal.
Dessa forma, as clareiras inicialmente derrubadas e queimadas se constituem em agroforestas onde
mesclam-se espcies cultivadas e espcies forestais. O espao agrcola de uma famlia constituido assim
por um mosaico de duas a trs roas em vrios estgios produtivos e de capoeiras tambm produtivas.
Essa agricultura se insere em um ciclo de dez a doze anos, ligando o espao cultivado foresta, e tem
a capoeira como elemento chave que condiciona sua viabilidade.
A agricultura de corte e queima foi muitas vezes assimilida a uma predao da foresta e dos solos.
Mas, em condies de baixa presso demogrfca, ela constitui um sistema altamente vivel, que permite
conciliar objetivos de produo e de conservao da biodiversidade, tanto agrcola quanto forestal.
A
G
R
I
C
U
L
T
U
R
A
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
422
VOC SABIA?
M
O aumento recorde das safras agrcolas em 2003 e 2004 no signifcou mais comida na mesa do brasileiro,
segundo estudo do Instituto de Economia da UFRJ. Ao contrrio: aps cinco anos de queda na renda, aumentou
a chamada insegurana alimentar. Hoje, 32 milhes de pessoas (ou 21% da populao) se alimentam de
forma insufciente e com alimentos de baixa qualidade.
M
Para cada tonelada de gros produzida pelos sistemas convencionais de produo agropecuria perde-se,
em mdia, dez toneladas de solos por eroso (ver Solo, pg. 333).
M
A contaminao com resduos de agrotxicos em frutas, legumes e verduras nos supermercados brasileiros
supera os ndices permitidos pela legislao em 22,17% desses produtos.
M
Desde meados dos anos 1990, a demanda mundial por produtos orgnicos cresce entre 20% a 30%
anualmente. No Brasil, estima-se que o crescimento da ordem de 40% ao ano. Cerca de 4.500 unidades
produtivas possuem certifcao de produo orgnica, biodinmica ou natural. Os estados do Paran, So
Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Esprito Santo concentram 70% delas. No Mato Grosso e Mato Grosso
do Sul tambm cresce a pecuria orgnica, na qual os hormnios sintticos so banidos e o gado se alimenta
de pastos sem agrotxicos. Mas, apesar dos avanos, a rea ocupada por unidades produtivas certifcadas e o
volume de produo ainda so irrisrios se comparados aos nmeros da agricultura convencional.
M
O crescente interesse internacional pelo etanol como combustvel para os automveis um enorme avano
na necessria transio a fontes renovveis de energia. Mas no se pode esquecer que, tradicionalmente, a
produo canavieira no Brasil provoca graves impactos ambientais, particularmente a eroso dos solos. O
desafo, portanto, incentivar o avano de sistemas produtivos que consigam, simultaneamente, reduzir os
riscos ambientais e atender a crescente demanda mundial pelo etanol proveniente da cana-de-acar (ver
Os Biocombustveis, pg. 376).
O QUE LEGAL
No fnal de 2003, o Congresso Nacional aprovou a Lei 10.831 que dispe sobre a produo de alimentos
orgnicos. Segundo essa Lei, considera-se sistema orgnico de produo agropecuria todo aquele em que se
adotam tcnicas especfcas, mediante a otimizao do uso dos recursos naturais e socioeconmicos disponveis
e o respeito integridade cultural das comunidades rurais, tendo por objetivo a sustentabilidade econmica e
ecolgica, a maximizao dos benefcios sociais, a minimizao da dependncia de energia no-renovvel, em-
pregando, sempre que possvel, mtodos culturais, biolgicos e mecnicos, em contraposio ao uso de materiais
sintticos, a eliminao do uso de organismos geneticamente modifcados e radiaes ionizantes, em qualquer
fase do processo de produo, processamento, armazenamento, distribuio e comercializao, e a proteo do
meio ambiente.
governo, setor privado e organizaes da sociedade civil,
inclusive organizaes de consumidores. A transio para
uma agricultura sustentvel no , portanto, um processo
trivial que se dar de uma hora para outra. Essa transio
poder durar dcadas, mas o importante que h claros
indcios de que ela j comeou.
C
I
N
C
I
A
E
T
E
C
N
O
L
O
G
I
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 423
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
CINCIA E TECNOLOGIA
MARCELO LEITE*
Falta de investimento em pesquisa deixa Pas em desvantagem competitiva
na criao de tecnologias e produtos inovadores
O Brasil considerado um pas de industrializao re-
tardatria. Isso signifca que o processo de desenvolvimento
cientfco-tecnolgico teve incio quando a industrializao
j estava consolidada internacionalmente e apta a atender
s necessidades de manufaturados dos mercados. Com
isso, o Pas fcou em desvantagem competitiva na criao
de produtos inovadores (sem concorrentes) ou produzidos
por tecnologias inovadoras (mais produtivas ou efcientes
que as concorrentes).
Mesmo assim, o Brasil teve um enorme sucesso em sua
capacidade de produzir manufaturas. Conseguiu implantar
um parque industrial com um nvel de diversificao,
complexidade e integrao alcanado por poucos pases
no mundo. Esse processo de industrializao foi o principal
responsvel pelo Brasil ter sido o pas que mais cresceu no
mundo entre 1900 e 1980, o que no signifcou competiti-
vidade no mercado externo.
Um dos maiores problemas, conforme apontou o do-
cumento Agenda 21 Brasileira Bases para Discusso, do
Ministrio do Meio Ambiente, que grande parte da com-
petitividade brasileira continua assentada no uso intensivo
de recursos naturais e baixa remunerao da mo-de-obra.
Alm disso, podem ser apontadas a baixa escolaridade do
brasileiro e a m qualidade do ensino (ver Educao, pg.
444). Esse quadro observado num momento de forte
concentrao de conhecimento no mundo, com os pases
industrializados respondendo por 95% das novas patentes
concedidas. Isso decerto resultado de 84% dos gastos
mundiais em pesquisa e desenvolvimento serem realizados
por pases desenvolvidos.
O investimento brasileiro na rea de apenas 0,83%
do PIB ao ano (dado de 2004), enquanto pases industria-
*Jornalista, colunista de Cincia do jornal Folha de S. Paulo
Pesquisador do Banco de DNA , Jardim Botnico (RJ).
A
L
E
X
A
N
D
R
E
C
A
M
P
B
E
L
L
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
C
I
N
C
I
A
E
T
E
C
N
O
L
O
G
I
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 424
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
SAIBA MAIS Subsdios Elaborao da Agenda
21 Brasileira Cincia e Tecnologia para o De-
senvolvimento Sustentvel, MMA; Com Cincia
Revista Eletrnica de Jornalismo Cientfco
(www.comcincia.br); Ministrio da Cincia e
Tecnologia Indicadores nacionais de cincia e
tecnologia (http://www.mct.gov.br/index.php/
content/view/2042.html).
VEJA TAMBM Crescimento Econmico (pg.
433); Desenvolvimento Humano (pg. 435); O
papel da inovao (pg. 454).
lizados, como a Alemanha e os Estados Unidos, investem
mais de 2,5%, e pases emergentes, como China e
Coria, investem 1,31% e 2,64% respectivamente.
Outro problema o baixo investimento em cincia e
tecnologia por parte do setor privado. Do total gasto no
Pas na rea, 57,9% financiado pelo governo e 39,9%
pelas empresas (sendo 35% estatais). Em pases como
Alemanha e Estados Unidos, essa relao se inverte. Na
Coria, a relao de 23,9% de investimentos governa-
mentais para 74% das empresas.
Por outro lado, o nmero de doutores formados
no Brasil anualmente era de 500 em 1980 e passou
para quase 9.000 em 2004. A participao brasileira na
produo do conhecimento cientfico mundial tambm
aumentou. O nmero de artigos brasileiros publicados
em peridicos cientficos internacionais passou de
0,44% em 1981 para 1,73% do total em 2004. Embora
o crescimento no nmero de artigos brasileiro seja
impressionante (da ordem de 600%), outros pases
emergentes, como China e Taiwan, aumentaram seu
nmero de artigos neste perodo em mais de 2.000%, e
a Coria, em mais de 8.000%.
Um outro desafio brasileiro diminuir a disparidade
na distribuio da atividade de pesquisa. Quase 50% dos
pesquisadores cadastrados dos Grupos de Pesquisa do
CNPq so da regio Sudeste (55% deles do estado de
So Paulo), enquanto o Sul conta com 23%, o Nordeste
com 15,4%, o Centro-Oeste com 7,3% e o Norte onde
est uma das maiores diversidades socioambientais do
mundo com apenas com 4,5%.
VOCE SABIA?
M
Segundo o Pnud, o Brasil est em 43 lugar
(entre 72 pases) no ndice de Desenvolvimento
Tecnolgico, com duas patentes por milho de
habitantes (8 na Argentina, 779 no Coria).
M
De 1995 a 1999, dos quatro mil pedidos
de patentes de biotecnologia recebidos pelo
Brasil, apenas 3% foram apresentados por
pesquisadores brasileiros.
M
Do total de patentes de inveno depo-
sitadas no Instituto Nacional de Propriedade
Intelectual (INPI) em 2004, metade era de
no-residentes no Pas.
Alguma sugesto, correo, atualizao?
A prxima edio do Almanaque vai fcar
ainda melhor com a sua colaborao.
Mande mensagem para almanaquebrasilsa@socioambiental.org
ou pelo correio: ISA, Av. Higienpolis, 901, 01238-001, So Paulo, SP.
C
O
M
R
C
I
O
J
U
S
T
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 425
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
COMRCIO JUSTO
NATALIE UNTERSTELL*
Das redes internacionais construo de um sistema brasileiro de comrcio tico e solidrio
*Assessora do Programa Rio Negro do ISA
Trs empresas transnacionais norte-americanas contro-
lam praticamente 80% do comrcio internacional de banana,
desde as plantaes at as redes de distribuio. Elas se apro-
priam da maior parte do valor adicionado ao longo da cadeia
de abastecimento, mas as pessoas que cultivam e fazem a
colheita de banana vivem em situao precria.
As milhares de famlias de pequenos produtores de
caf na Amrica Latina e na frica tambm dependem
diretamente da venda desse produto para sobrevivncia.
Durante os ltimos anos, a partir da ruptura dos acordos
internacionais que regulamentavam o comrcio dessa mer-
cadoria, em 1988, o preo fxado por grandes operadoras nas
principais bolsas de valores do mundo sofreu duras quedas,
expondo os pequenos produtores sem acesso a servios de
seguro e crdito e sem reservas de capital insegurana
econmica e alimentar permanente.
Esses e outros produtos includos na pauta comercial
internacional, como o ch, o cacau e as frutas tropicais,
procedem de pases do hemisfrio Sul, que historicamente
exportam para os pases do hemisfrio Norte em condies
desvantajosas. Foi a partir da dcada de 1960 que os con-
sumidores do Norte, principalmente europeus, passaram
a olhar no apenas para a qualidade dos produtos, mas
tambm para a qualidade do processo: como foi produzido,
onde, por quem e a que preo. Ficou logo claro que o con-
tedo social e ambiental dos produtos deveria ser explcito
a todos os agentes envolvidos no mercado.
O movimento de consumidores do Norte, liderado ini-
cialmente por organizaes da sociedade civil ligadas Igreja,
passou a discutir formas de certifcao dessas mercadorias,
a fm de embutir critrios sociais e ambientais aos acordos
de produo e venda que diminussem a vulnerabilidade
dos pases do Sul e tambm de educar os compradores. Ao
longo dos anos, foi se construindo um sistema alternativo de
comrcio, conhecido como comrcio justo, estruturado em
cadeia de lojas, exportadores e importadores, e redes e fruns
Imagem da tela de abertura do site www.artebaniwa.org.br.
F
O
T
O
S
:
P
E
D
R
O
M
A
R
T
I
N
E
L
L
I
/
M
O
N
T
A
G
E
M
S
Y
I
L
V
I
A
M
O
N
T
E
I
R
O
C
O
M
R
C
I
O
J
U
S
T
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 426
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
Cestaria baniwa de arum do Alto Iana (AM).
O QUE COMRCIO JUSTO
O conceito clssico de comrcio justo nasce
como aquele em que o preo que os consumidores
dos pases do Norte pagam por produtos de pases
do Sul efetivamente contribui para uma remunera-
o justa dos produtores. Entretanto, esse conceito
avanou e no se resume mais a relao entre norte e
sul (pases ricos e paises em desenvolvimento). Hoje
em dia, comrcio justo defne a prtica comercial,
em qualquer lugar ou situao, que promove o
desenvolvimento sustentvel e permite que
produtores em situao de desvantagem acessem
o mercado competitivo sob condies que garantam
retornos justos pelos seus produtos e educao para
os consumidores. Alm disso, busca superar situao
de pobreza atravs de parcerias entre os agentes en-
volvidos no processo de comrcio, sejam produtores,
trabalhadores, vendedores ou consumidores.
de discusso. Cada um dos agentes envolvidos responde por
uma funo especfca na colaborao os varejistas se ocupam
da sensibilizao do mercado quanto origem e aos esforos
reunidos para ofert-los nos grandes centros, enquanto redes
como a Federao Internacional de Comrcio Alternativo (IFAT)
fomentam o intercmbio de competncias entre seus mem-
bros. Muitas organizaes tambm conquistaram voz ativa
nos espaos de discusso internacional sobre comrcio, como
a OMC, com signifcativa participao na construo de uma
agenda que visa mudar as regrasde acesso a mercados.
Esse novo jeito de pensar as relaes comerciais rompeu
com o que os defensores do capitalismo pregaram at ento:
que os produtos devem ser annimos, livres de circunstncias
polticas ou sociais, para competir igualitariamente no merca-
do. Tal conceito emergiu no ps-guerra, quando os produtores
neutralizavam seus produtos atravs de marcasgenricas, as
quais desassociavam os produtos de sua origem.
O mercado justovem crescendo rapidamente e segundo
a Fair Trade Labelling Organization (FLO) movimentou em 2006
mais de 1,1 bilho de Euros. So 569 organizaes de produto-
res certifcadas e 469 operadores certifcados, no universo de 5
milhes de benefcirios ligados a essa organizao.
Prticas locais
Apesar de tais nmeros responderem pelas transaes
internacionais, o comrcio solidrio est tambm se desdo-
brando em prticas locais, regionais e nacionais. Avana-se
na capilarizao e na inveno de outras modalidades de
colaborao, como a cooperao entre pases do Sul e a
parceria com a economia solidria e com estratgias de
desenvolvimento territorial.
No Brasil, algumas experincias de comrcio justo se
desenvolveram nas dcadas de 1970 e 1980, ligadas s redes
internacionais. Mas foi na dcada de 1990, com o avano do
processo de globalizao econmica e a intensifcao de polti-
cas de descentralizao no Brasil, que se intensifcou o interesse
no desenvolvimento local e sustentvel, favorecendo a difuso
do comrcio justo no Pas. Embora dispersas, existem no Brasil
iniciativas de valorizao de produtos da diversidade socioam-
biental do Pas baseadas em prticas comerciais ticas, justas e
SAIBA MAIS Arte Baniwa (www.artebaniwa.
org.br); Projeto Terra (www.projetoterra.org.
br); Faces do Brasil (www.facesdobrasil.org.br);
Johnson, P.W. (Org.), Comrcio Justo e Solidrio.
Caderno de Proposies para o sculo XXI Alian-
a para um Mundo Responsvel, Plural e Solid-
rio, Plis, So Paulo, 2004.
VEJA TAMBM Cooperao Internacional (pg.
432); Economia Solidria (pg. 443).
P
E
D
R
O
M
A
R
T
I
N
E
L
L
I
/
I
S
A
C
O
M
R
C
I
O
J
U
S
T
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 427
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
ZOOM
OS NDIOS SATER-MAW, FILHOS DO GUARAN
Inventores da cultura do guaran, os ndios Sater-Maw domesticaram essa planta silvestre e criaram o
processo de benefciamento, possibilitando que o guaran fosse conhecido e consumido no mundo inteiro.
O comrcio do guaran sempre foi intenso na regio de Maus (AM), no s o realizado pelos Sater-Maw,
mas tambm pelos no-indgenas. H uma distino de qualidade entre eles, j que os no-ndios produzem sem
os conhecimentos e apuro das prticas tradicionais dos ndios. O guaran das terras altas, como conhecido, sempre
foi mais procurado e no entanto os Sater-Maw o vendem em pequena escala, nos anos de excelente safra.
Com efeito, a forte expanso do guaran no mercado mundial deu lugar a uma agricultura moderna do
guaran, que visa hiperprodutividade fundada na
utilizao macia de pesticidas e herbicidas, at mesmo
no interior da foresta. Dessa forma, o preo pago pelo
guaran se manteve baixo devido larga oferta, sem
incorporar os custos ecolgicos e sociais e valores sociais
e culturais, ao preo fnal.
Em 1994, o Conselho Geral das Tribos Sater Maw
criou o Projeto Guaran, para vender o guaran produ-
zido na Terra Indgena Andir-Marau, na fronteira de
Amazonas e Par, por um preo diferencial no mercado
internacional, baseando-se no fato de ser um produto
orgnico, nativo e inimitvel. O objetivo inicial do CGTSM
era exportar, para a Europa, quatro toneladas de guaran. Em 2000, atingiu-se a cifra de 40 toneladas vendidas para
importadoras de comrcio justo na Frana e na Itlia. Naquele ano, a empresa Guayapi Tropical, responsvel por ter
conseguido o reconhecimento legal na Frana do guaran como integrador alimentar, deixou de comprar o guaran
em p a 10 dlares por quilo para compr-lo por cerca de 42 dlares por quilo, reconhecendo o valor cultural e am-
biental agregado ao produto. Tal preo se fxou nas outras transaes comerciais da CGTSM com clientes europeus,
estabilizando relaes de parceria baseadas em condies justas de comrcio, como pagamento antecipado.
Em 2004, o CGTSM se uniu Cooperativa Agrofrutfera Urucar (Agrofrut) e microempresa familiar Agrorisa,
para fundar a Sapopema, Sociedade dos Povos para o Eco-desenvolvimento da Amaznia. A empresa rene em um
nico sujeito de produo, de comrcio e de cooperao mtua, trs realidades diferentes, mas complementares,
e viabilizou a certifcao do guaran Sater-Maw no mercado justo internacional.
solidrias, como a marca indgena Arte Baniwa, a cooperativa
sisaleira do semi-rido Apaeb e o guaran dos ndios Sater
Maw. Alm disso, nos ltimos anos inovou-se no varejo, com
o Programa Caras do Brasil do Grupo Po de Acar e as lojas
Projeto Terra - ambos facilitadores do acesso de comunidades
tradicionais, povos indgenas e agricultores familiares ao
mercado das grandes cidades e promotores do dilogo sensvel
destes com os consumidores brasileiros em geral.
H diferentes entendimentos e discursos em relao
ao conceito de comrcio justo no Pas e recentemente um
grupo denominado Frum de Articulao do Comrcio tico
e Solidrio do Brasil (Faces do Brasil), composto por ONGs,
representantes de governo e empresas, articulou-se para
pensar de forma transparente e horizontal a construo e
implementao de um sistema de comrcio brasileiro que
promova a igualdade e a incluso social.
Fruta do guaran dos Sater-Maw.
N
I
A
L
O
R
E
N
Z
C
O
N
S
U
M
O
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 428
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
CONSUMO SUSTENTVEL
MARILENA LAZZARINI* E LISA GUNN**
...a principal causa da contnua deteriorao do meio ambiente global so os
padres insustentveis de produo e consumo... (Captulo 4 da Agenda 21)
*Coordenadora executiva do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)
e presidenta do Frum Nacional de Entidades Civis de Defesa do Consumidor
**Sociloga e mestre em Cincia Ambiental, gerente de informao do Idec
O debate sobre consumo sustentvel vem tomando
cada vez mais espao. O desafio, porm, ampliar a
abordagem para alm da esfera individual, enfrentando as
questes sobre o qu e quanto consumir, alm de afrmar
a responsabilidade socioambiental no apenas dos consu-
midores, mas tambm dos governos e das empresas, sobre
a criao e implementao de alternativas que garantam a
produo e o consumo sustentveis.
Nos ltimos dez anos, a prtica da produo mais limpa
buscou a diminuio e o uso efciente de matrias-primas, a
preveno das fontes de poluio e a reduo dos riscos sade
humana. O problema que a reduo na quantidade de matria-
prima utilizada na produo de alguns bens de consumo dur-
veis o que de fato vem acontecendo, atravs da eco-efcincia
no tem diminudo o uso global de matrias-primas.
Alm disso, para reduzir as emisses de gases do
efeito estufa, ou seja, para mitigar a mudana climtica
em curso, precisamos rever com urgncia os padres de
produo e consumo (ver Mudana Climtica Global,
pg. 358). No Brasil, onde o desmatamento responde
por cerca de 70% das emisses, uma forma de ns
consumidores contribuirmos nessa questo , na hora
em que formos comprar carne ou madeira, questionar o
fornecedor sobre a procedncia e as condies de produ-
o desses produtos, uma vez que a pecuria a grande
responsvel pelo desmatamento e que 80% da madeira
explorada ilegalmente na Amaznia consumida no
mercado nacional (ver Amaznia, pg. 83).
importante estabelecer relao entre o consumo
de produtos e de servios para atender aos anseios e s
necessidades dos consumidores e o uso de recursos naturais
envolvidos nesse consumo ou seja, os materiais e a energia
usados na produo, assim como a capacidade de assimila-
o ou suporte do meio ambiente para receber a poluio,
as emisses de gases do efeito estufa e o lixo resultante dos
atuais padres de produo e consumo.
Estamos tratando, portanto, da necessidade da mu-
dana de estilos de vida, considerando no apenas o que
VOC SABIA?
M
possvel prover alimentao adequada,
gua potvel e educao bsica para as pessoas
mais pobres no mundo com menos do que
gasto anualmente com cosmticos, sorvete e
comida para animais de estimao.
M
Enquanto 1,7 bilho de pessoas podem
ser enquadradas na classe global de con-
sumidores (pessoas que tm televises,
celulares e acesso Internet), 2,8 bilhes
sobrevivem com menos de 2 dlares por dia e
mais de um bilho de pessoas no tm acesso
gua potvel.
O PAS DOS RICOS
O Brasil entrou na rota das maiores marcas
de luxo internacionais: Tifany & Co, Ermenegildo
Zegna, Giorgio Armani, Cartier, Louis Vuitton e
Montblanc. Isso porque existem 4 milhes de
brasileiros ricos no Pas, o correspondente a 2,5%
da populao brasileira, que detm 75% do PIB
brasileiro. Resultado: a loja da Montblanc no
Brasil a quinta colocada em vendas. O Brasil foi
campeo no nmero de encomendas das canetas
de brilhantes, que custam 120 mil dlares.
SAIBA MAIS (http://www.terra.com.br/dinhei
ronaweb/139/negocios/neg139_06.htm).
ZOOM
C
O
N
S
U
M
O
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 429
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
CONSUMIDOR CONSCIENTE, CONSUMIDOR EFICIENTE
HELIO MATTAR*
* Diretor-presidente do Instituto Akatu pelo Consumo Consciente.
* helio@akatu.org.br
O Instituto Akatu pelo Consumo Consciente trabalha
para conscientizar as pessoas dos impactos de suas aes
para que, ao saber desses efeitos, elas possam fazer as
escolhas que lhes paream mais adequadas. Se voc
soubesse que o transporte o segundo maior causador de
emisses de CO2 no Brasil, voc pensaria duas vezes antes
de ligar o motor do carro para andar trs quarteires, no
? E se soubesse que o desmatamento a maior causa
de emisses de CO2 no Brasil, voc certamente desistiria
de comprar uma mesa feita com madeira retirada da
foresta. E se soubesse que a sua cidade gasta um quinto
do dinheiro da prefeitura para tratar o lixo, pode ser
que preferisse um produto com menos embalagem ou
aproveitasse melhor os alimentos.
Por isso, preciso conscientizar e mobilizar as
pessoas para um consumo que considere os seus im-
pactos sobre a sociedade, buscando contribuir para a
sustentabilidade. mostrar que todo ato de consumo
traz impactos negativos e, muito importante, impactos
positivos. Cada um de ns precisa saber quais impactos
so esses para que possamos decidir o que queremos e
o que no queremos provocar. Como exemplo, quando
voc decide comprar algo de uma empresa que social e
ambientalmente responsvel, voc est provocando um
impacto positivo, porque estimula essa empresa a conti-
nuar adotando a mesma postura, ao mesmo tempo em
que incentiva outras a seguirem esse mesmo modelo.
Destacar os aspectos positivos importante porque
muitos pensam que consumo consciente sinnimo
de privao ou desconforto. Em absoluto, o consumo
consciente traz, por sua natureza, uma maior satisfao.
Primeiro a de consumir o que voc precisa e, ao mesmo
tempo, a de contribuir, com o seu consumo, para a
construo de um mundo melhor. Para explicar melhor,
eis alguns exemplos:
M
1. Em tudo o que se consome esto embutidas gua
e energia virtuais, ou seja, a gua e a energia que foram
gastas para fabricar aquele produto. A energia gasta pro-
voca, na sua gerao, a emisso de gases de efeito estufa,
causadores do aquecimento global. A gua, por sua vez,
precisa de energia para chegar at o local onde vai ser usa-
da. Ento, quando algum evita comprar algo novo, est
economizando o prprio dinheiro, a matria-prima com
que a mercadoria foi feita e tambm a gua e a energia
utilizadas na fabricao. Uma possvel ao do consumidor
preferir produtos com embalagens reutilizveis, dado
que, por exemplo, fabricar e distribuir garrafas PET emite
o dobro de gs carbnico, o principal gs de efeito estufa,
do que o mesmo ciclo de uma garrafa de vidro.
M
2. Quase o mesmo acontece quando se destina o
seu lixo para reciclagem. Para reutilizar uma latinha de
alumnio so gastos apenas 5% da energia necessria
para fabricar uma nova. E cada um de ns faz muita
diferena. Basta pensar que 20 pessoas, ao longo de 70
anos, geram uma quantidade de lixo que lota um prdio
de 10 andares com 100 metros quadrados de laje!
M
3. H muitas maneiras de economizar gua, como
reduzir o tempo do banho, trocar a descarga de vlvula
por uma de caixinha e nunca usar a mangueira para
lavar carros e caladas. Estas so algumas formas fceis
e efcientes de diminuir o gasto de gua e, com isso, de
reduzir o uso de energia para trazer a gua at o local de
uso. Conseqentemente, de combater o aquecimento
global causado pela gerao de energia.
Esses so alguns exemplos simples que servem
para mostrar que a prtica do consumo consciente
pode ser facilmente incorporada ao dia-a-dia, sem
exigir muito trabalho ou militncia.
SAIBA MAIS Akatu (www.akatu.org.br).
C
O
N
S
U
M
O
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 430
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
SAIBA MAIS Idec Instituto Brasileiro de De-
fesa do Consumidor (www.idec.org.br); Brasil
Sustentvel e Democrtico (www.brasilsusten-
tavel.fase.org.br); Greenpeace Brasil (www.
greenpeace.org.br).
VEJA TAMBM Economia Ecolgica (pg. 441);
Reforma Tributria (pg. 451); Responsabilidade
Socioambiental Corporativa (pg. 452); Riscos e
Acidentes Socioambientais (pg. 456).
dinheiro do consumidor. complicado afrmar que a poltica
indicada para a conservao de energia, por exemplo, deixar
que os preos do combustvel subam. Para a populao de bai-
xa renda, at mesmo um pequeno aumento causa impactos
signifcativos em sua economia familiar. Alm disso, a mudan-
a para padres de produo sustentveis no necessariamen-
te signifca aumento no custo da produo. Um exemplo so
os alimentos orgnicos: se, por um lado, a possvel perda de
produtividade pode representar mais custos, por outro lado
ningum diz o quanto se deixa de gastar em recursos pbli-
cos e privados de sade com o consumo de alimentos mais
saudveis. Mas tambm cruel o fato de alimentos orgnicos
se tornarem um nicho de mercado para as classes A e B, pois
os problemas ambientais e sade humana so socializados,
mas a alternativa restrita a quem pode pagar.
se consome, como tambm quanto se consome. Estilos que
privilegiem a qualidade de vida, baseada no atendimento
das necessidades bsicas e em aspectos culturais e espiri-
tuais, mais do que em aspectos materiais. o que chamam
de desmaterializao da economia, ou o direcionamento da
atividade econmica para o setor de servios, mais do que a
produo material de produtos.
Reduzir a desigualdade social e erradicar a pobreza no
Brasil so o primeiro passo em direo ao consumo sustentvel.
Mas faz parte da reduo da desigualdade mudar os padres
de consumo das classes mdia e rica, que apresentam um
lado perverso: ao mesmo tempo em que so adotados pelas
camadas com renda para consumir, so incorporados, como
expectativa, pelas camadas de menor ou nenhum poder aqui-
sitivo, agravando as j severas disfunes sociais prevalecentes
em um pas em desenvolvimento.
O primeiro passo em direo ao consumo sustentvel
permitir que as pessoas tenham acesso aos produtos que
atendam s necessidades bsicas. No Brasil, precisamos de
aes mais signifcativas que distribuam a renda, diminuam
a desigualdade, acabem com a pobreza (ver Desenvolvi-
mento Humano, pg. 435).
A partir da, torna-se imperativo mudar os padres de
produo e consumo para tornar sustentvel a vida no Planeta.
Apesar da difculdade de alcanar esta mudana, que estrutu-
ral, cada um de ns (organizaes da sociedade civil, governos,
empresas) j sabe, ou deveria saber, qual o seu papel na
promoo de novos padres de produo e consumo.
Um problema especialmente identifcado em pases em
desenvolvimento a questo dos preos. Tradicionalmente,
as organizaes lutam para conseguir o melhor valor para o
COMO POSSO AJUDAR?
M
Reflita sobre seus hbitos de consumo e
oportunidades de mudana visando a reduo
dos impactos sociais e ambientais negativos. Por
exemplo: em vez de consumir alface, tomate,
cebola e batata o ano inteiro, aprenda quais so as
frutas, legumes e verduras da estao, que exigem
a aplicao de menor quantidade de agrotxicos.
Se possvel, consuma produtos orgnicos.
M
Indague s empresas proprietrias das mar-
cas que voc habitualmente consome sobre os
impactos sociais e ambientais da produo dos
produtos e servios, inclusive sobre a quanti-
dade de emisses de gases do efeito estufa.
Demande mudanas no processo de produo
e aes no ps-consumo. Exemplo: Produtos
eltricos e eletrnicos efcientes as empresas
podem fabricar equipamentos efcientes no uso
de energia e se responsabilizar pela coleta dos
produtos no ps-consumo.
M
O consumidor precisa estar convencido de
que, quando faz compras, est, de fato, exercen-
do uma responsabilidade social, poltica e moral
que vai alm dos seus interesses particulares.
C
O
N
T
A
B
I
L
I
D
A
D
E
A
M
B
I
E
N
T
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 431
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
CONTABILIDADE AMBIENTAL
ROBERTO SMERALDI*
O conceito de contabilidade ambiental amplo e utilizado em contextos diversos,
s vezes gerando ambigidade ou equvocos
VEJA TAMBM Responsabilidade Socio-
ambiental Corporativa (pg. 452); Indica-
dores Socioambientais (pg. 446); Riscos e
Acidentes Ambientais (pg. 456); Servios
Ambientais (pg. 459).
Podem ser identifcadas trs modalidades principais de
uso do conceito contabilidade ambiental:
M
A primeira se aplica ao sistema nacional de contas pblicas.
A contabilidade ambiental visa, neste caso, contribuir para o
clculo da renda real, da prosperidade e PIB de um certo pas,
usando dados sobre os estoques e fuxos de recursos naturais,
com nfase nas variaes do chamado capital natural. Seu uso,
nesse contexto, visa oferecer um indicador mais correto da
solidez e/ou qualidade do crescimento econmico, com especial
referncia ao seu desempenho
futuro (ver Crescimento Eco-
nmico, pg. 433).
M
A segunda modalidade
definida como contabilidade
fnanceira ambiental e se aplica
ao setor privado. Ela visa, como
no caso anterior, incorporar ao
balano da empresa custos nor-
malmente esquecidos ou escondidos, assim permitindo uma
auditoria efcaz dos ativos e passivos do empreendimento.
Tal contabilidade especialmente importante no caso de
empresas com capital aberto - cujas aes so negociadas
na bolsa - pois reduz o risco do investidor, ou no caso de
transaes como fuses, aquisies etc., pois contribui
para defnir o valor do empreendimento. Os exemplos de
passivos vo de prticas que podem gerar multas at uso
de materiais esgotveis.
M
A terceira modalidade definida como contabilidade
ambiental de gesto e tambm se aplica ao setor privado.
Neste caso, porm, o objetivo diferente. Visa-se princi-
palmente a reduo de custos gerados por prticas pouco
eficientes ou defasadas, como desperdcios de energia
ou matrias-primas. Em geral, trata-se de uma atividade
de levantamento de informao que contribui para a
reorientao daquelas prticas de trabalho que oneram
o empreendimento, em decorrncia, principalmente,
de falta de treinamento ou de
tecnologia adequada.
preciso portanto tomar cui-
dado com a informao sobre
esta prtica perante pblicos
pouco informados. Por exem-
plo, uma empresa que adote
formas de gesto baseadas
em contabilidade ambiental
no necessariamente ter um balano que reflita seus
passivos reais. Ela apenas se preocupa em cortar certos
gastos ineficientes, mas pode esconder dos acionistas
determinados fatores de vulnerabilidade. Tambm um
pas que disponha de um grande estoque de capital
natural (o caso do Brasil) no necessariamente est
usando o mesmo de forma sustentvel.
Alguma sugesto, correo, atualizao?
Mande mensagem para almanaquebrasilsa@socioambiental.org ou
pelo correio: ISA, Av. Higienpolis, 901, 01238-001, So Paulo, SP.
*Jornalista, diretor da Oscip Amigos da Terra - Amaznia Brasileira
C
O
O
P
E
R
A
O
I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
432
COOPERAO INTERNACIONAL
WAGNER COSTA RIBEIRO*
a atuao conjunta de pases, instituies multilaterais
e no-governamentais em busca de um objetivo comum
VOC SABIA?
M
A expresso cooperao internacional no
aparece em obras clssicas como o Dicionrio de
Poltica, organizado por Norberto Bobbio. Mesmo
livros de direito internacional reconhecem que o
termo no possui uma defnio jurdica clara.
Talvez porque a cooperao proponha algo novo:
um intercmbio entre interessados em causas
comuns com o repasse de informaes em prol
de uma ao coletiva. Essa prtica, porm,
considerada uma afronta aos instrumentos
clssicos de valorizao do conhecimento, como
as patentes ou outras formas de remunerar o
saber fazer de um grupo social (ver A licena
creative commons, pg. 484).
*Gegrafo, professor do Depto. de Geografa e dos Programas de Ps-Graduao em
Geografa Humana e em Cincia Ambiental na USP
SAIBA MAIS Ministrio das Relaes Exteriores
(www.mre.gov.br).
VEJA TAMBM Recursos Genticos (pg. 254);
Acordos Internacionais (pg. 476).
TRATADOS INTERNACIONAIS
Grande parte dos tratados internacionais reafr-
ma a cooperao internacional entre seus objetivos,
como a Conveno sobre Diversidade Biolgica. Nesse
caso, espera-se que um pas que desenvolva uma
inovao tecnolgica, como um novo remdio, por
exemplo, a partir de um organismo que ocorre em um
outro pas repasse a tecnologia ao pas que forneceu
as informaes genticas.
A cooperao internacional envolve dois ou mais atores
dispostos a estabelecer um regime de colaborao no qual
ocorre transferncia de conhecimento e/ou de recursos que
viabilizam atividades de interesse comum. Esse regime pode
ser duradouro, como um acordo internacional, ou fortuito,
para resolver temas especfcos.
A construo de satlites e de foguetes para lana-
mento entre grupos brasileiros e chineses resultado
da cooperao tcnica complementar. Os dois pases
desenvolveram capacidades especfcas. Porm, houve
uma associao de competncias tcnicas diferentes que
permitiram apresentar uma alternativa aos usurios de
satlites do mundo. O resultado foi uma ampliao da
oferta de servios de captao de informaes ambientais
a diversos pases, empresas e demais interessados. Houve
ainda repasse de conhecimento tecnolgico entre tcnicos
do Brasil e da China.
As organizaes no-governamentais tambm coope-
ram entre si e recebem ajuda das agncias de cooperao
privadas ou governamentais. Muitas organizaes de pases
centrais, que dispem de mais recursos fnanceiros que
organizaes de pases de renda mdia e baixa, enviam
dinheiro para viabilizar projetos de educao ambiental,
de delimitao de reas protegidas, de capacitao de
lideranas em pases pobres, entre outras possibilidades.
As organizaes mais ricas viabilizam o desenvolvimento
de aes locais em parcerias com organizaes voluntrias
ou mesmo profssionais.
A cooperao pode envolver tambm organismos
multilaterais, como o Programa das Naes Unidas para o
Meio Ambiente, que repassa recursos a pases menos desen-
volvidos. Os organismos multilaterais podem ainda envolver
organizaes no-governamentais em suas aes, muitas
vezes exigindo a presena delas na gesto e fscalizao da
utilizao dos recursos aplicados.
ZOOM
C
R
E
S
C
I
M
E
N
T
O
E
C
O
N
M
I
C
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 433
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
CRESCIMENTO ECONMICO
JOS ELI DA VEIGA*
A capacidade de transformar crescimento em desenvolvimento, nas ltimas dcadas,
foi bem superior no Brasil do que em pases emergentes como China ou ndia
* Economista da Faculdade de Economia e Administrao da
Universidade de So Paulo (FEA/USP)
O crescimento econmico um meio e no um
fim. E tem capacidade muito varivel de fazer com que
as sociedades atinjam os objetivos almejados. Duas
singelas idias que ainda no imburam a maioria
das anlises sobre a situao do Brasil. Elas revelam
obsesso pelo crescimento como um fim em si mesmo,
supondo ingenuamente que ele mantenha uma relao
automtica, constante, permanente, e at eterna com o
desenvolvimento. Todavia, ao contrrio do que se l em
quase todos os artigos sobre o tema, este pas no precisa
invejar China, ndia, Coria ou Chile. No limite, seria at
o contrrio, pois os benefcios do crescimento vm sendo
bem melhor aproveitados por aqui.
Nos ltimos trs decnios, a capacidade de transfor-
mar crescimento em desenvolvimento foi bem superior
no Brasil do que em todos os pases citados. Quatro vezes
a do Chile, por exemplo, pois houve aqui quase o mesmo
aumento do IDH com um quinto de sua taxa mdia de
crescimento per capita. Para muitos, s poder parecer
mentira que o Brasil tenha elevado seu IDH de 0,645
para 0,792 com um oitavo do desempenho mdio da
PIB per capita IDH ESI
Taxa anual 1975 2003 2005
1975-2003
China 8,2 0,525 0,755 38,6
Coria 6,1 0,707 0,901 43,0
Chile 4,0 0,704 0,854 53,6
ndia 3,3 0,412 0,602 45,2
Brasil 0,8 0,645 0,792 62,2
Fontes: Relatrio do Desenvolvimento Humano 2005 (www.pnud.org.br) e 2005 Environ-
mental Sustainability Index (www.ciesin.columbia.edu)
PIB Produto Interno Bruto
IDH ndice de Desenvolvimento Humano
ESI ndice de Sustentabilidade Ambiental (EnviromenmentalSustainabnility Index)
O QUE PIB?
Principal indicador da atividade econmi-
ca, o Produto Interno Bruto (PIB) mostra o valor
da produo realizada dentro das fronteiras
geogrficas de um pas, em um determinado
perodo, independentemente da nacionalidade
das unidades produtoras. O PIB sintetiza o resul-
tado final da atividade produtiva, expressando
monetariamente a produo, sem duplicaes,
de todos os produtores residentes nos limites
da nao avaliada.
INDICADORES DE CRESCIMENTO,
DESENVOLVIMENTO
E SUSTENTABILIDADE
economia coreana e um dcimo da chinesa, como ilustra
a tabela ao lado.
E no apenas nessa transmutao de crescimento
em desenvolvimento que o Brasil vence a parada. Mais
ainda no tocante sustentabilidade ambiental desse
desenvolvimento. Apesar de toda a devastao e degrada-
o perpetrada aos seus principais ecossistemas; apesar
da propenso de suas elites em desvalorizar o amanh;
e apesar da infinidade de tristes conflitos ambientais
que pipocam diariamente; mesmo assim o Brasil tem
se mostrado superior aos outros quatro pases. O mais
reconhecido sistema de avaliao comparativa das naes
mostra que no provo de sustentabilidade ambiental o
Brasil est na frente, mesmo que com medocre nota 6,
VEJA TAMBM Cincia e Tecnologia (pg. 423);
Desenvolvimento Humano (pg. 435); Economia
Ecolgica (pg.441); Indicadores Socioambien-
tais (pg. 446); O papel da inovao (pg. 454).
C
R
E
S
C
I
M
E
N
T
O
E
C
O
N
M
I
C
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 434
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
Para crescer, o Brasil precisa mudar a legislao
ambiental? A resposta no poderia ser nem de longe
positiva. Claro que certos investimentos seriam desi-
nibidos pela relaxao de restries possibilidade de
depredar recursos naturais e de poluir. Tanto quanto
outros o seriam pela relaxao de restries possibi-
lidade de explorar crianas ou o trabalho forado.
Como a acelerao do crescimento requer elevao
da taxa de investimento de 20% para 26%, bvia a
vantagem imediata de retrocessos sociais que removam
travas impostas apropriao a ferro e a fogo dos
biomas nacionais.
No se trata de saber se a proteo legal do meio
ambiente ou no entrave ao crescimento.
Viso menos ingnua da questo supe enten-
dimento dos dois padres essenciais de crescimento
econmico. O que reinou quase absoluto por mais de
dez mil anos foi chamado de extensivo por historia-
dores, pois espalhava os acrscimos populacionais
por novas reas geogrfcas, enquanto o produto
aumentava no mesmo compasso. Em raras ocasies
e em poucos lugares, algumas sociedades elevaram
a renda per capita mediante o aumento da produti-
vidade total dos fatores (recursos naturais, fora de
trabalho e capital). Mas foram proezas passageiras,
que no tardaram a decair ou colapsar. Esses surtos
de crescimento intensivo compem a histria das
grandes civilizaes.
Essa forma intensiva de crescimento acabou por
se tornar recorrente. Isso s foi possvel porque o
MEIO AMBIENTE E CRESCIMENTO
casamento da cincia com a tecnologia multiplicou
de forma exponencial a capacidade de inovao das
sociedades.
Enquanto no crescimento antigo predominava a
devora de recursos naturais pela fora fsica do trabalho
humano, o alicerce do crescimento moderno passou
cada vez mais a depender do uso inteligente das inova-
es que tornam o trabalho mais decente e qualifcado,
alm de conservar os ecossistemas.
Por isso, em vez de exigir recuo da legislao am-
biental, o crescimento moderno se apia na capacidade
de inovao da sociedade, que resulta de forte interao
entre a cincia e a tecnologia (C&T). O Brasil no vol-
tar a crescer bastante, com constncia e qualidade,
enquanto no atribuir a seu sistema de C&T um valor
ao menos equivalente ao que d s telenovelas.
Simples miragem, claro, para uma sociedade que
se faz governar por uma coalizo incapaz de desonerar a
carga tributria com conteno das despesas correntes
do setor pblico, incapaz de fazer reformas imprescin-
dveis (como a da Previdncia), incapaz de melhorar a
efcincia do sistema judicirio, de rever a Consolidao
das Leis do Trabalho (CLT) etc.
Em tais circunstncias, no passa de covardia a
propenso para escolher ndios, quilombolas e ambien-
talistas como bodes expiatrios. A sociedade brasileira
est diante de troca intertemporal. preciso que domine
anseios ilusrios por imediatos saltos triplos do PIB para
que seus flhos, netos e bisnetos tenham chance de abrir
caminho ao desenvolvimento sustentvel.
enquanto ndia e Coria no conseguem 5 e a China nem
mesmo 4. Nunca ser demais lembrar que a cor da China
no mais o amarelo, nem o vermelho de sua bandeira.
o preto da fuligem que escurece o pr-do-sol, cobre as
cidades de fumaa, tinge as guas dos rios e encharca
de chuva cida os arrozais. Mais de 6 mil trabalhadores
morrem por ano em 28 mil minas de carvo parecidas s
do incio da revoluo industrial. E com matriz energtica
to capenga, o que se deve esperar de uma ditadura
tecnocrtico-militar, cujo exrcito popular libertou o
Tibet em 1950, participou da guerra da Coria em 1950-
53, atacou a ndia em 1962, invadiu o Vietn em 1979 e,
dez anos depois, massacrou os estudantes democratas
na Praa Tienammen? A um brasileiro que diga ter inveja
dos chineses s se pode rugir: devagar com o andor, que
o santo de barro!
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
H
U
M
A
N
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 435
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO HUMANO
O Brasil tem conseguido aumentar a renda das camadas mais pobres da populao e diminuir
a concentrao de renda, mas o caminho para uma sociedade mais justa ainda longo
Estudos do Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada
(Ipea) e da Fundao Getlio Vargas (FGV) mostram que a
renda per capita dos 10% mais pobres da populao brasi-
leira cresceu em uma velocidade de 8% ao ano entre 2001
e 2005. No mesmo perodo, melhorou tambm (com ndice
de crescimento de 6% ao ano) a renda dos 20% mais pobres.
O conceito de Desenvolvimento Humano, porm, inclui
em sua medio da qualidade de vida de uma populao
no somente aspectos econmicos, mas tambm sociais,
ambientais, culturais e polticos. Mesmo que no d conta
de todos esses itens, o ndice de Desenvolvimento Humano
(IDH), indicador da ONU adotado em 1990, passou a incluir
nos clculos, alm da riqueza nacional, a longevidade da
populao (mdia de anos de vida) e a educao (anos de
estudo). De acordo com esse ndice, o Brasil foi um dos pases
que mais registrou desenvolvimento desde 1975. Foram 16
postos ganhos ao longo de 26 anos (de 1975 a 2001), tra-
zendo o Pas da 81, para a 65 posio no ranking. Em 2006,
o Brasil fcou em 69 lugar numa lista de 177 pases, o que
no signifca necessariamente queda em relao ao ndice de
2001, pois a metodologia do clculo foi modifcada a partir
de 2003 (ver Crescimento Econmico, pg. 433).
Ainda entre 2001 e 2005, os brasileiros em situao de
extrema pobreza diminuram 5,6%, embora ainda fossem
23,3 milhes em 2005. Enquanto isso, a renda dos 10% mais
ricos teve uma queda de 0,3% ao ano, desde 1990. Assim, se
subiu a renda dos mais pobres e caiu a dos mais ricos, houve
reduo da desigualdade na distribuio de renda. Ainda
assim, os 10% mais ricos ganham 15,8 vezes mais que os 40%
mais pobres, o que gera grande diferena de bem-estar.
Os mais ricos, por exemplo, tm mais acesso a sane-
amento adequado e ao ensino superior. As desigualdades
se acentuam quando se consideram as diferenas de cor. Os
negros e pardos so quase 74% entre os mais pobres e s
correspondem a pouco mais de 11% entre os mais ricos. A
relao entre desigualdade e cor tambm est presente na
Meninos aprendem a fazer rede de pesca.
P
A
T
R
I
C
I
A
S
A
N
T
O
S
/
F
O
L
H
A
I
M
A
G
E
M
(
1
9
9
8
)
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
H
U
M
A
N
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
436
A LUTA CONTRA O TRABALHO ESCRAVO
NEIDE ESTERCI*
Trabalho escravo ou escravido por dvida uma
forma de escravido que consiste na privao da liber-
dade de uma pessoa (ou um grupo), que fca obrigada
a trabalhar para pagar uma dvida que o empregador
alega ter sido contrada. Como o trabalhador no
tem como controlar os dbitos e crditos que lhe so
atribudos, a dvida torna-se impagvel e o tempo de
trabalho compulsrio indeterminado. Essa forma de
escravido j existia, no Brasil e em outros pases do
mundo ocidental, quando ainda era preponderante a
escravido dos negros africanos que os transformava
legalmente em propriedade dos seus senhores.
As leis abolicionistas no se referiram escravido
por dvida, que continuou a ser praticada, livremente,
nos mais importantes setores da economia: explorao
da borracha, no Acre, plantation aucareira do Nor-
deste e fazendas de caf em So Paulo. Nos anos 1960,
em funo das polticas dos governos militares para
desenvolvimento da Amaznia, essa prtica ressurgiu
em grande escala nos empreendimentos agropecurios
de empresas nacionais e transnacionais que adquiriram
terras na fronteira. Recrutados e postos sob o controle
de empreiteiros ou gatos, milhares de trabalhadores
foram trazidos de outras regies do Pas para essas
fazendas, sob promessa de bons salrios e boas con-
dies de trabalho. Muitos eram reduzidos condio
de escravos, s vezes sob alegao de estarem endivi-
dados, outras vezes eram simplesmente retidos nos
locais de trabalho pela fora das armas, para atender
s necessidades de mo-de-obra dos empregadores.
Muitos trabalhadores, nessas condies, recorreram
fuga e muitos foram torturados e assassinados.
O Brasil j havia assinado a Conveno da ONU de
1956, que trata do combate ao trfco e a todas as formas
de escravido, e havia tambm incorporado ao Cdigo
Penal, atravs do artigo 149, a clusula dos direitos
humanos que defne como crime, passvel de ser punido
com penas de dois a oito anos de recluso, a prtica de
reduzir algum condio anloga a de escravo. Mas,
sob o regime militar, a conveno nunca foi considerada
e nenhuma denncia desta situao absurda chegou,
como deveria, OIT, de modo que os governos militares
nunca foram interpelados, como eram os demais pases
que descumpriam a conveno.
Foi somente na segunda metade dos anos 1980,
que organismos da sociedade civil puderam se articular
em redes nacionais e internacionais e, pela primeira
vez, levar OIT a denncia de trabalho escravo. Nas
dcadas seguintes, foram ento sendo criados vrios
instrumentos legais e de enquadramento, represso e
punio que, aos poucos, foram sendo aperfeioados
at se tornarem mais efcazes.
Em 1995, foi criado Grupo Mvel de Fiscalizao,
uma iniciativa atravs da qual, equipes do Ministrio
do Trabalho e das DRTs passaram a atuar de forma mais
cooperativa com organismos da sociedade civil como
a CPT que h anos registrava os casos e dava apoio
s vtimas. Permanecia, entretanto, a indefnio do
conceito de condio anloga de escravo, o que
levava os diversos rgos governamentais a adotarem Trabalhador escravo, libertado numa blitz do
Ministrio do Trabalho, mantido sob proteo
de uma ONG para testemunhar contra os gatos.
L
A
L
O
D
E
A
L
M
E
I
D
A
,
M
A
R
A
B
(
P
A
)
,
2
0
0
4
*Antroploga, presidente do ISA
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
H
U
M
A
N
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 437
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
interpretaes divergentes: uns consideravam
trabalho escravo somente os casos em que fcasse
comprovado o uso da fora e a privao da liber-
dade; outros aceitavam que a alegao de dbitos
e os descontos na remunerao j indicavam
imobilizao e escravido.
Muitas outras medidas legais e prticas
foram sendo tomadas, mas registre-se que, em
2003, o artigo 149 do Cdigo Penal foi alterado,
ampliando o conceito de reduo de pessoas
condio de escravos de modo a incluir tambm
os casos de situao degradante e de jornadas de
trabalho excessivas. Ainda em 2003, comeou a
ser publicado o cadastro de empregadores que
usualmente praticam o trabalho escravo. Eles
fcam submetidos a monitoramento do MTE, no
podem tomar emprstimos a bancos do governo,
nem receber incentivos e s podem ter seu nome
retirado da lista suja depois de pagar todas as
multas e liquidar todos os dbitos, previdencirios
e trabalhistas, com seus trabalhadores.
Por outro lado, o MTE tratou de regulamentar
a situao dos trabalhadores libertados que, desde
2003, passaram a ser considerados benefcirios
do seguro desemprego. Segundo as entidades
envolvidas nesta luta, o que pesa no bolso atinge
muito efcazmente os infratores e o seguro de-
semprego, garantindo por alguns meses o salrio
do trabalhador, representa uma satisfao moral
e o ajuda a vencer a tendncia a, muitas vezes,
lamentar a chegada da fscalizao.
SAIBA MAIS Esterci, Neide. Escravos da desi-
gualdade: um estudo sobre o uso repressivo da
fora de trabalho hoje. Rio de Janeiro: Cedi/Koi-
nonia, 1994; Figueira, Ricardo Rezende. Pisando
fora da prpria sombra: a escravido por dvida
no Brasil contemporneo. Rio de Janeiro: Civi-
lizao Brasileira, 2004; Comisso Pastoral da
Terra (Org.). Trabalho escravo no Brasil contem-
porneo. So Paulo: Edies Loyola, 1999.
populao carcerria do Pas. Dos presos brasileiros, 58%
so negros ou pardos, segundo dados do Departamento
Penitencirio Nacional (2006).
A expressiva reduo da desigualdade e da pobreza no
Brasil entre 2001 e 2005, segundo o Ipea, foi acompanhada por
uma piora da grande maioria dos postos de trabalho, com 60%
das pessoas tendo queda em seus rendimentos de trabalho. O
aumento da renda familiar explicado pelos programas de
transferncia de renda como o Bolsa Famlia, que benefcia
cerca de 11 milhes de famlias -, as aposentadorias e o au-
mento do nmero e da proporo de pessoas que trabalham.
Alm disso, segundo o IBGE, o trabalho formal (registro em
carteira) no atinge nem metade dos trabalhadores (47,3%).
Violncia
Um dos maiores problemas atuais no Brasil a violncia
que, segundo a Sntese dos Indicadores Sociais do IBGE
2002-2003 e 2006, cresceu 130% entre 1980 e 2000. Nesse
perodo, 600 mil pessoas foram assassinadas, o equivalente
a uma cidade do tamanho de Braslia. Os jovens de 15 a 24
anos so os mais atingidos. O Mapa da Violncia de 2007
da Organizao dos Estados Ibero-americanos mostra
que, entre 1994 e 2004, os homicdios entre os jovens
aumentaram em 64,2% (ver Devastao Combina com
Violncia, pg. 388).
A estimativa do IBGE que a populao com mais de
70 anos passe de 3,9% em 2005 para 7,9% em 2030. Apesar
de o crescimento da populao nessa faixa etria ser um
indicador muito positivo de aumento da longevidade da
populao, associado alta taxa de trabalho precrio e
informal passa a gerar mais presso sobre a previdncia, j
que a proporo dos contribuintes tem se mostrado estvel
e o trabalho informal no recolhe esses impostos.
J a educao vem melhorando continuamente desde
1995, em termos de anos de estudo. No entanto, o anal-
fabetismo funcional (pessoas que sabem ler e escrever de
forma precria) atinge 23,5% dos brasileiros, segundo dados
do IBGE para o ano de 2005. No ano anterior, em 2004, o
Ibope divulgou o alarmante ndice de que os analfabetos
funcionais seriam 75% da populao brasileira com mais de
15 anos (ver Educao, pg. 444).
A taxa de mortalidade infantil continua diminuindo.
Passou de 37,9 mortes por mil nascidos vivos, para 25,8
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
H
U
M
A
N
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
438
mortes por mil, entre 1995 e 2005, o que corresponde a uma
queda de quase 32% no perodo. Mas, segundo o IBGE, ainda
h grandes problemas a serem solucionados na rea de
infra-estrutura, uma vez que parte signifcativa das mortes
de menores de um ano de idade ocorre devido s condies
ambientais precrias, como falta de saneamento.
Direitos humanos
Segundo o 3 Relatrio Nacional sobre Direitos Hu-
manos 2002-2005, da USP, no h um nico estado da
federao sem registros de graves violaes de direitos hu-
manos, como homicdio, abuso sexual de crianas, trabalho
escravo e confitos no campo. Crianas e adolescentes so de
SAIBA MAIS 3 Relatrio Nacional sobre Direi-
tos Humanos no Brasil 2002-2005 (www.nevusp.
org/downloads/down099.pdf ).
VEJA TAMBM Brasil (pg. 61); Populao Bra-
sileira (pg. 216).
CONSULTORA: NEIDE ESTERCI
Antroploga, presidente do ISA
INCLUSO DIGITAL
As novidades nas tecnologias da comunicao
modifcam a forma das pessoas se relacionarem en-
tre si e com o meio onde vivem. Com o surgimento
do computador e da Internet, as mudanas foram
ainda mais profundas, por terem acrescentado a
possibilidade de interao e se tornado mediaes
importantes para atividades no mercado de traba-
lho e para fns educacionais e de aprendizado. A
Internet pode ser uma ferramenta no exerccio da
cidadania, pois oferece a possibilidade de partici-
pao e no apenas de observao. Por exemplo,
qualquer um pode ter um email para se comunicar
com outras pessoas, criar sites, blogs, publicar
textos etc. No entanto, dados do Comit Gestor da
Internet mostram que, em 2006, apenas 19,6% dos
domiclios brasileiros possuam esse equipamento
e 14,5% tinham acesso Internet. A privao do
acesso informtica tem sido combatida com
projetos de incluso digital, principalmente com a
instalao de telecentros (salas de acesso a compu-
tadores com Internet) em diversas regies do Pas,
especialmente nas periferias urbanas.
SAIBA MAIS Cultura Digital no MinC (www.cul
tura.gov.br/foruns_de_cultura/cultura_digital).
maneira crescente vtimas de violncia praticada por armas
de fogo. Apesar da diversidade de programas governamentais
e no-governamentais dirigidos a esses grupos, persistem
graves problemas de abuso e explorao sexual de crianas
e adolescentes e trabalho infantil. Aps anos de declnio, o
trabalho infantil aumentou no Pas. Em valores absolutos, de
2004 para 2005, o nmero de crianas e adolescentes de 10
a 14 anos trabalhando passou de 1.713.595 para 1.864.822
(+ 8,8%). O trabalho escravo tambm persiste.
Confitos pela posse de terra e o nmero de pessoas
mortas nas reas rurais aumentaram entre 2002 e 2005,
particularmente nas reas de expanso do agronegcio,
minerao, extrao de madeira e construo de barragens e
hidreltricas. A morte brutal da Irm Dorothy Stang, assassi-
nada em Anapu, no Par, chocou o Pas em 2005, ano em que
outras 101 pessoas morreram em confitos semelhantes.
reas indgenas tambm continuam a ser foco de confi-
tos e violncias, que, juntamente com a falta de investimento
em polticas de desenvolvimento sustentvel, ameaam
a sobrevivncia de populaes indgenas. Sinal positivo
nesse cenrio o aumento do nmero de pessoas que se
declaram indgenas em censos demogrfcos, o que refete
o crescimento da organizao e mobilizao pelos direitos
dessa populao (ver Povos Indgenas, pg. 226).
A violncia no campo e na cidade agravada pela
violncia policial. Uso excessivo da fora letal, execues
e torturas esto presentes em todos os estados, sendo
registrados de forma mais sistemtica em So Paulo e Rio de
Janeiro. Este ltimo teve o mais alto ndice de violncia desse
tipo: 3.970 vtimas entre 2002 e 2005. Em comparao aos
dados dos relatrios anteriores, essas e outras informaes
apontam um recesso no desenvolvimento de polticas de
proteo e promoo dos direitos humanos no Brasil.
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 439
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL
CLVIS BORGES*
O conceito deste novo modelo de desenvolvimento representa um extraordinrio desafo
sociedade, mas ainda sofre com a inconsistncia e a superfcialidade ao se tentar demonstr-lo
Citao
De um modo geral, defne-se
desenvolvimento sustentvel levando em
conta as seguintes metas e objetivos bsicos:
A taxa de consumo de recursos renovveis
no deve ultrapassar a capacidade de
renovao dos mesmos.
A quantidade de rejeitos produzidos
no deve ultrapassar a capacidade de
absoro dos ecossistemas.
Recursos no-renovveis devem ser
utilizados somente na medida em que
podem ser substitudos por um recurso
equivalente renovvel.
(Fischer-Kowalski,M & Haberl,H.)
*Diretor-executivo da Sociedade de Pesquisa em Vida
Selvagem e Educao Ambiental (SPVS)
A defnio de desenvolvimento sempre foi controversa
e variou ao longo do tempo, em diferentes culturas e classes
sociais. Nos ltimos anos, a difuso de informaes sobre de-
sigualdade social, pobreza e uso indiscriminado dos recursos
naturais incrementaram discusses sobre os modelos de de-
senvolvimento convencionais, via de regra exacerbadores dos
problemas sociais da humanidade, incluindo a degradao
ambiental e conseqente perda da biodiversidade.
O termo desenvolvimento sustentvel fruto do anseio
crescente de parte da sociedade por formas alternativas para
o desenvolvimento humano, que contemplem critrios para
o uso racional do patrimnio natural e no gerem desigual-
dades sociais. Fica evidente que o surgimento dessa nova
busca se refere ao intenso desgaste sofrido pelos modelos
vigentes ao longo dos anos. Desenvolvimento hoje uma
referncia para indicar o crescimento econmico de setores
da sociedade global, atrelado a uma srie de conseqncias
negativas demagogicamente justifcadas como o preo do
crescimento (ver Crescimento Econmico, pg. 433).
Com base em teses que apregoam a contestao dos pa-
dres convencionais, surge a proposta de desenvolvimento
sustentvel, visando um enquadramento mais prximo do
que verdadeiramente venha a ser desenvolvimento.
Meta distante
A expectativa da parte da sociedade que luta por
estas mudanas que seja possvel enquadrar a economia,
ao longo do tempo, a parmetros aceitveis de equilbrio,
revertendo aos poucos as mazelas do uso indiscriminado
dos recursos naturais e da excluso social. No entanto, este
objetivo ainda est longe de ser alcanado.
Apesar de ser possvel observar importantes movimen-
tos convergentes a essa nova viso de progresso, trata-se
ainda de uma exceo regra, muito distante de promover
mudanas realmente significativas no quadro global.
Alm disto, evidente a tendncia de vulgarizao intensa
do uso do termo desenvolvimento sustentvel. O anncio
sistemtico de iniciativas que simplesmente modifcam o
rtulo de suas aes, permanecendo estritamente dentro
dos procedimentos usuais, muito mais comum do que se
SOCIOAMBIENTAL SE ESCREVE JUNTO
D
E
S
E
N
V
O
L
V
I
M
E
N
T
O
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 440
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
HISTRICO
A partir da segunda metade do sculo XIX comeou-se a perceber em nvel planetrio a degradao
ambiental e suas catastrfcas conseqncias, o que originou estudos e as primeiras reaes no sentido de se
conseguir frmulas e mtodos de diminuio dos danos ao ambiente. Resultado disso foram os estudos do Clube
de Roma, liderado por Dennis L. Meadows, culminado com a publicao do livro Limites de crescimento, que fez
um diagnstico dos recursos terrestres concluindo que a degradao ambiental resultado principalmente do
descontrolado crescimento populacional e suas conseqentes exigncias sobre os recursos da Terra e que, se
no houver uma estabilidade populacional, econmica e ecolgica, os recursos naturais (que so limitados)
sero extintos e com eles a populao humana. Estes estudos lanaram subsdios para a idia de desenvolver,
mas preservando.
Em conseqncia desses e outros estudos, a ONU criou em 1983 a Comisso Mundial sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento. Presidida por Gro Harlem Brundtland, primeira ministra da Noruega, fcou conhecida como
Comisso Brundtland e tinha os seguintes objetivos: reexaminar as questes crticas relativas ao meio ambiente
e reformular propostas realistas para abord-las; propor novas formas de cooperao internacional nesse campo,
de modo a orientar as polticas e aes no sentido das mudanas necessrias, e dar, a indivduos, organizaes
voluntrias, empresas, institutos e governos uma compreenso maior desses problemas, incentivando-os a uma
atuao mais frme (ver Cooperao Internacional, pg. 432).
Os trabalhos foram concludos em 1987, com a apresentao de um diagnstico dos problemas globais ambien-
tais. A Comisso props que o desenvolvimento econmico fosse integrado questo ambiental, surgindo assim
uma nova forma denominada desenvolvimento sustentvel, que recebeu a seguinte defnio: Desenvolvimento
sustentvel aquele que atende s necessidades dos presentes sem comprometer a possibilidade de as geraes
futuras satisfazerem suas prprias necessidades.
SAIBA MAIS Comisso Mundial sobre Meio Am-
biente e Desenvolvimento. Nosso futuro comum. 2
edio. Fundao Getlio Vargas, 1991.
VEJA TAMBM Econmica Ecolgica (pg. 441);
Reforma Tributria (pg. 451); Responsabilidade
Socioambiental Corporativa (pg. 452).
possa imaginar. evidente que, se de uma hora para outra,
tudo se enquadra na nova idia, algo no est correto.
H quem afirme que desenvolvimento sustentvel
no existe. No s em funo das incompatibilidades entre
conservao da natureza e as enormes presses causadas
pela espcie humana em nosso Planeta, mas tambm pela
maneira arrogante pela qual iniciativas pontuais pretendem
qualifcar-se, sem sequer disporem de uma viso mais ampla
de suas responsabilidades e inferncias para que o termo
sustentabilidade possa ser utilizado adequadamente.
Vulgarizar a utilizao da expresso desenvolvimento
sustentvel a maneira mais efetiva de impedir o cresci-
mento dessa proposta e a capacidade de mudanas reais.
E parece ser isso o que vem ocorrendo, em grande medida,
no discurso de polticos ou integrando processos de grandes
empresas e projetos sociais. A carncia de base tcnica des-
sas iniciativas, muitas vezes anunciadas de forma estridente
como revolucionrias, ameaam comprometer o valor das
poucas atividades que realmente permitem comprovar
alguma evoluo na busca da sustentabilidade.
Cabe aos atores envolvidos nessa proposta de mudana
to vital para nosso Planeta manter distncia de exemplos
inadequados ou continustas. Para a populao, o senso
crtico e a avaliao de contedo devem sempre ser mais
importantes do que rtulos bem elaborados.
E
C
O
N
O
M
I
A
E
C
O
L
G
I
C
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 441
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMIA ECOLGICA
ADEMAR ROMEIRO*
Quando se fala em economia, pouco se discute sobre sua dependncia dos sistemas naturais
(para obteno de energia e matria-prima) e o impacto que gera nos ecossistemas
*Presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecolgica
A Economia Ambiental predominante trabalha com
a hiptese bsica de que os recursos naturais (como
fonte de insumos e como capacidade de assimilao de
impactos dos ecossistemas) no representam, a longo
prazo, um limite absoluto expanso da economia. Pelo
contrrio, inicialmente estes recursos sequer apareciam
em suas representaes analticas da realidade econmica
como, por exemplo, na especificao de funo de produ-
o, onde entravam apenas o capital e o trabalho. Com o
tempo, os recursos naturais passaram a ser includos nas
representaes de funo de produo mas, como apon-
tou Nicholas Georgescu-Roegen o pai da Economia
Ecolgica , a manuteno da forma multiplicativa dessa
funo implica a hiptese de substitubilidade perfeita
entre capital e recursos naturais.
Como resultado, os limites impostos pela disponibili-
dade de recursos naturais poderiam ser indefinidamente
superados pelo progresso tcnico que os substitui por
capital. Na literatura, essa concepo ficou conhecida
atravs do conceito de sustentabilidade fraca. Essa con-
cepo tem implcita tambm a hiptese de que os riscos
de perdas irreversveis (potencialmente catastrficas) no
so importantes. Como decorrncia, no necessrio
implementar nenhuma ao pr-ativa de precauo.
Para a Economia Ecolgica, ao contrrio, capital e
recursos naturais so essencialmente complementares.
Na literatura, esta viso referida atravs do conceito
de sustentabilidade forte. O progresso cientfico e tec-
nolgico visto como fundamental para aumentar a
eficincia na utilizao dos recursos naturais em geral
(renovveis e no-renovveis), mas no capaz de
SAIBA MAIS May, Peter; Lustosa, Maria Ceclia;
Vinha, Valria (Orgs.). Economia do meio am-
biente: teoria e prtica. Rio de Janeiro: Elsevier:
Campus, 2003. Romeiro, A.R. (Org.). Avaliao e
Contabilizao de Impactos Ambientais. Campi-
nas: Editora da Unicamp; So Paulo: Imprensa
Ofcial, 2004.
VEJA TAMBM Consumo Sustentvel (pg.
428); Crescimento Econmico (pg. 433); Desen-
volvimento Sustentvel (pg. 439).
(IN)EFICINCIA ECOLGICA
A economia americana um exemplo de
inefcincia ecolgica: do total de recursos consu-
midos, apenas 6% se tornam produtos de fato. No
entanto, considera-se que possvel diminuir esse
desequilbrio com investimentos na produtividade,
considerando que os sistemas produtivos teriam
a preocupao de no gerar a quantidade de
resduos de hoje (poluio, lixo, desperdcio). Uma
iniciativa nesse sentido so os parques industriais
com emisso quase zero, onde cada empresa utili-
za o resduo da outra como matria-prima (para a
produo de energia, por exemplo).
Os investimentos necessrios para essa
produtividade melhorada seriam compensados
com o tempo, tanto pela economia feita em re-
cursos quanto na reduo do investimento inicial
necessrio a uma empresa. Em alguns pases,
medidas econmicas de incentivo esto sendo
implementadas, como as reformas tributrias
(ver Reforma Tributria, pg. 451). Diminuir
o imposto sobre a renda das pessoas e aumentar
a taxao pelo uso de servios ambientais (ver
Servios Ambientais, pg. 459) ajudaria a
fomentar o uso racional e um melhor aproveita-
mento desses recursos.
E
C
O
N
O
M
I
A
E
C
O
L
G
I
C
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 442
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
superar indefinidamente os limites ambientais globais
a capacidade de carga do Planeta. A magnitude
da puno exercida pelas sociedades humanas sobre o
meio ambiente - sua pegada ecolgica (ver Pegada
Ecolgica, pg. 44) resulta do tamanho da populao
multiplicado pelo consumo per capita de recursos natu-
rais, dada a tecnologia. O progresso tcnico pode atenuar
relativamente essa presso, mas no elimin-la.
A capacidade de carga do Planeta Terra no poder
ser ultrapassada sem que ocorram grandes catstrofes
ambientais (ver Mudana Climtica Global, pg.
358). Nesse sentido, preciso criar o quanto antes as
condies socioeconmicas, institucionais e culturais
INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE E SISTEMA
DE CONTAS AMBIENTAIS
Para a Economia Ecolgica crucial a elaborao de Indicadores de Sustentabilidade e de Sistemas de Contas
Ambientais para viabilizar e fundamentar o processo de tomada de decises em face da incerteza sempre presente
no tratamento da maioria dos problemas ambientais importantes. Os primeiros fornecem subsdios cientfcos para
a defnio da escala aceitvel de uso dos recursos ambientais, de modo a minimizar o risco de perdas irreversveis.
O segundo contribui decisivamente para a orientao e justifcao de polticas ambientais nacionais. E ambos so
fundamentais como fator de conscientizao ecolgica. Em ltima instncia o grau de conscientizao ecolgica que
permitir a mudana para padres de consumo sustentveis (ver Indicadores Socioambientais, pg. 446).
Devastamos mais da metade de nosso Pas
pensando que era preciso deixar a natureza
para entrar na histria: mas eis que esta ltima,
com sua costumeira predileo pela ironia,
exige-nos agora como passaporte
justamente a natureza.
(de Eduardo Viveiros de Castro, antroplogo,
um dos motes da fundao do ISA em 1994)
que estimulem no apenas um rpido progresso tec-
nolgico poupador de recursos naturais, como tambm
uma mudana em direo a padres de consumo que
no impliquem o crescimento contnuo e ilimitado
do uso de recursos naturais per capita (ver Cincia e
Tecnologia, pg. 423). A longo prazo, portanto, a
sustentabilidade do sistema econmico no possvel
sem estabilizao dos nveis de consumo per capita de
acordo com a capacidade de carga do Planeta. Esse um
desafio que no poder ser resolvido sem uma conscien-
tizao geral das sociedades sobre a necessidade de agir
coordenadamente, de modo a evitar perdas irreversveis
potencialmente catastrficas.
E
C
O
N
O
M
I
A
S
O
L
I
D
R
I
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 443
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMIA SOLIDRIA
PAUL SINGER*
*Economista, secretrio nacional de Economia Solidria
do Ministrio do Trabalho e Emprego
A Economia Solidria formada por empreendimentos
associativos em que se realizam todo tipo de atividades
econmicas. Eles so possudos e operados coletivamente
pelos scios. Nesses empreendimentos, no h patres e
empregados nem os que mandam e os que obedecem.
Cada scio tem uma parcela do patrimnio, que igual
dos demais scios e as decises so tomadas por todos,
cada scio tendo direito a um voto.
Quando h necessidade de haver encarregados para
a tomada de certas decises, estes so eleitos pelos scios
e devem atuar conforme as diretrizes aprovadas pela
assemblia dos mesmos. Trata-se, portanto, de uma eco-
nomia igualitria e democrtica, que surgiu em oposio
economia capitalista. Esta se caracteriza pela concentrao
da propriedade do capital do empreendimento e, portanto,
de todo poder de deciso nas mos de uns poucos, ao passo
que o trabalho realizado por muitos, que apenas cumprem
tarefas em troca do pagamento de um salrio.
H dois tipos de empreendimentos de economia solid-
ria: os que produzem bens ou servios para venda no mercado
e os que prestam servios aos scios. Esses empreendimentos
tomam geralmente a forma de cooperativas. As cooperativas
que produzem mercadorias so chamadas de cooperativas de
produo. As que prestam servios aos scios so chamadas
de cooperativas de consumo, mas so mais conhecidas pelo
tipo de servio que prestam: cooperativas de compra e venda,
de crdito, habitacionais, educacionais etc. Embora todas
elas funcionem de acordo com os mesmos princpios, a sua
maneira de existir bastante diferente.
Cooperativas de produo operam como fbricas, fazen-
das, lojas, escritrios etc.: os scios ganham a vida trabalhando
nelas. Sendo os donos da cooperativa, decidem o que produzir
e como repartir os ganhos entre eles. Sua atividade exige
constante contato entre eles e muita confana mtua, pois
a sorte econmica de cada scio depende do empenho e da
competncia de todos. Todos se benefciam dos ganhos e todos
so obrigados a partilhar os prejuzos.
As cooperativas de consumo so associaes de usu-
rios, enquanto produtores ou enquanto consumidores. As
de usurios-produtores mais conhecidas so as agrcolas,
formadas por fazendeiros ou camponeses. Cada scio
produz separadamente, em sua propriedade, e fca com a
receita da venda de sua produo. A cooperativa serve para
que os scios possam vender em conjunto seus produtos
e eventualmente comprar em conjunto equipamentos,
sementes, fertilizantes etc. Essas operaes comerciais so
muito mais vantajosas quando feitas para todos os scios
do que se fossem realizadas separadamente. Outros tipos
de cooperativas de usurios-produtores so as de mdicos,
artesos, catadores de material reciclvel, artistas etc.
Essas cooperativas no so comunidades, como as de
produo, pois os scios s se encontram esporadicamente,
por ocasio de assemblias ou festas. O trabalho cotidiano
feito em geral por empregados, embora tambm possa ser
feito por scios, que, nesse caso, se afastam da sua atividade
profssional. Nessa condio, o controle da cooperativa pelos
scios muito maior do que se o trabalho feito por empre-
gados. Como estes no partilham dos resultados econmicos
da cooperativa, seus interesses so outros. comum que os
empregados em posio de mando tenham mais informaes
sobre a situao da cooperativa do que os prprios scios, e se
aproveitam desse conhecimento para dominar a cooperativa.
De acordo com os princpios da economia solidria, no
deve haver empregados nos empreendimentos, para que a
autogesto se realize plenamente.
Finalmente, h as cooperativas que prestam servios
aos scios enquanto consumidores. Esto nesse caso as
coo perativas de crdito, de compras de bens de primeira
necessidade (conhecidas como cooperativas de consumo),
de habitao, de educao etc. Nessas cooperativas, a
ao coletiva dos scios quase s se limita s assemblias
ordinrias e ocasionais festejos. A atividade quase
sempre executada por empregados, que de fato gerem
a cooperativa. Mas, h tambm cooperativas com enga-
jamento ideolgico, em que a participao dos scios
muito mais intensa, como os sistemas de comrcio justo,
que distribuem produtos ecolgicos feitos em autogesto
(ver Comrcio Justo, pg. 425).
E
D
U
C
A
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 444
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
EDUCAO
MARINGELA GRACIANO* E SRGIO HADDAD**
* Coordenadora do Observatrio da Educao da Ao Educativa
** Coordenador geral da Ao Educativa
A excluso ao ensino no Pas no atinge a populao de forma aleatria;
ao contrrio, est reservada s pessoas mais pobres
O Sistema Educacional Brasileiro est organizado em
educao bsica e ensino superior. A educao bsica
formada pela educao infantil, ensino fundamental e
ensino mdio. A educao infantil constituda por creches
para as crianas de at 3 anos e pr-escolas para crianas
de 4 a 5 anos. O ensino fundamental regular recentemente
sofreu alteraes em sua confgurao: a partir de 2005 foi
estabelecida a obrigatoriedade da matrcula para crianas
de 6 anos e, em 2006, sua durao foi ampliada de oito para
nove anos. O ensino mdio tem durao de trs anos.
Ainda na educao bsica, existem quatro modalidades
especfcas de ensino. A educao de jovens e adultos, que
pode ser acessada por jovens a partir de 16 anos tanto para
o ensino fundamental quanto para o mdio. A educao
especial, destinada a pessoas com defcincias, modalidade
que tambm vem sofrendo alteraes, passando de um
modelo de atendimento exclusivo, para a incluso desse
segmento na rede regular de ensino. E tambm a educao
escolar indgena e o ensino profssionalizante.
Embora as dcadas de 1980 e 1990 tenham sido forte-
mente marcadas pela ampliao do acesso da populao
educao formal, a verdade que um grande nmero de
pessoas crianas e tambm jovens e adultos com baixa
escolaridade ainda esto fora da escola. Essa excluso, no
entanto, no atinge a populao de forma aleatria; ao con-
trrio, est reservada s pessoas mais pobres. Notadamente
a populao afro-descendente, habitantes das regies
Norte e Nordeste, da zona rural e das periferias das maiores
cidades. Ao lado da falta de acesso, a educao brasileira
enfrenta tambm o desafo da qualidade, ou ausncia dela.
Nesse quesito, novamente se manifesta o cruzamento entre
as desigualdades educacionais e as sociais.
No que se refere s desigualdades entre as redes
pblicas e privadas, os dados indicam que as escolas
particulares oferecem na mdia melhores condies de
ensino e aprendizagem, assim como, de maneira geral, os
estudantes dessas unidades tm apresentado melhores
desempenhos. Isso no signifca que o ensino privado tenha
qualidade satisfatria.
Em relao formao dos professores, em 2003,
apenas 28,2% dos professores de 1 a 4 sries do ensino
fundamental que atuavam na rede pblica possuam en-
sino superior, enquanto na rede privada esse ndice era de
43,9%, que tambm baixo. Entre os docentes que atuam
de 5 a 8 sries, essa formao era compartilhada por
73,3% na rede pblica e 84,4% na privada. No ensino mdio,
praticamente no existem diferenas entre os dois grupos
89% e 90,1%, respectivamente, dos docentes das redes
pblica e privada tinham curso superior, ou seja, nenhuma
das duas redes garante a formao mnima.
Levantamento do MEC/Inep (Edudatabrasil, 2005)
indica que a rede privada de ensino tambm est longe de
universalizar insumos necessrios a garantir a boa qualidade
de ensino menos de 60% dos alunos matriculados nesta
rede tm acesso a laboratrios de Cincias, por exemplo, e no
chega a 80% aqueles que usufruem de biblioteca, laboratrio
de informtica ou quadra esportiva nas escolas.
A situao na rede pblica, no entanto, bem pior. O
mesmo levantamento demonstra que menos da metade
SAIBA MAIS Carreira, Denise e Pinto, Jos Marce-
lino R. Custo Aluno Qualidade Campanha Nacional
pelo Direito a Educao, 2006, Texto para Debate dis-
ponvel no website (www.campanhaeducacao.org.
br); Haddad, Srgio; Graciano, Maringela (Orgs.).
A educao entre os direitos humanos. Campinas:
Editora Autores Associados Ltda, 2006. v. 1. 272 p.;
Peregrino, Mnica. Desigualdade numa escola em
mudana: trajetrias e embates na escolarizao
pblica de jovens pobres. UFF, 2005.
VEJA TAMBM Cincia e Tecnologia (pg. 423);
Desenvolvimento Humano (pg. 435).
E
D
U
C
A
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 445
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
dos alunos que freqenta-
ram a escola pblica, em
2005, o que responde por
90% do total de matrculas,
tinham acesso a biblioteca
ou laboratrio de Cincias
ou de Informtica; e que
apenas dois em cada cinco
freqentavam uma escola
com acesso Internet. Um
fator agravante que a exis-
tncia desses recursos no
signifca sua utilizao pelos
alunos j que, em boa parte
das escolas, as bibliotecas
no possuem profssionais
habilitados e os laboratrios
de informtica ficam, em
geral, trancados.
Da mesma forma, no
que se refere ao desempe-
nho dos alunos, constata-se
que tanto as redes pblicas
como as privadas no esto atingindo integralmente
seus objetivos quanto disseminao de habilidades de
leitura e escrita e clculo matemtico. De acordo com os
resultados do Sistema Nacional de Avaliao da Educao
Bsica (Saeb), de 2005, os estudantes de escolas estaduais e
municipais urbanas tiveram pontuao inferior aos colegas
das escolas privadas. No entanto, o desempenho desse
grupo tambm fca bem distante da pontuao mxima
do exame, que varia de 0 a 500.
Existe um quadro de desafos para a educao pblica
no que se refere universalizao do acesso ao ensino de
qualidade. As causas dessa situao esto relacionadas a
fatores internos e externos escola, e tambm s polticas
educacionais.
No entanto, um dos problemas centrais est nas desi-
gualdades socioeconmicas e tnico-raciais que estruturam
a sociedade brasileira. Embora a educao seja apontada
tanto no senso comum quanto por especialistas como um
fator essencial para a melhoria das condies de vida, a ver-
dade que no Brasil a expanso do ensino foi acompanhada
Brasil
Mdia 7,0
Sexo
Homem 6,8
Mulher 7,1
Cor
Branca 7,8
Preta/Parda 6,0
Situao domiclio
Urbano 7,5
Rural 4,2
Regies
Norte 6,4
Nordeste 5,6
Sudeste 7,7
Sul 7,4
COeste 7,2
F
o
n
t
e
:
I
B
G
E
,
P
e
s
q
u
i
s
a
N
a
c
i
o
n
a
l
p
o
r
A
m
o
s
t
r
a
d
e
D
o
m
i
c
l
i
o
s
2
0
0
5
MDIA ANOS
DE ESTUDO
2005, pessoas de
15 anos ou mais
por uma permanente e profunda concentrao de renda.
Os indicadores educacionais, interpretados conjuntamente
aos dados socioeconmicos, tnico-raciais e territoriais,
demonstram que o padro brasileiro de excluso causa
impacto na oferta educacional e, ao mesmo tempo, fa-
tores intrnsecos oferta educacional contribuem para a
reproduo dessas desigualdades, constituindo um crculo
vicioso na sua manuteno.
Ocorre que, de um lado, as polticas educacionais so
absolutamente insufcientes para reverter as conseq-
ncias das desigualdades de renda. Mesmo que a escola
oferecesse diversos insumos bibliotecas, informtica,
atividades culturais, entre outros , as carncias produ-
zidas pela concentrao de renda impossibilitariam, ou
pelo menos difcultariam, a igualdade de desempenho e
acesso a oportunidades. Da que, embora os programas
de transferncia de renda sejam de extrema importncia
para estimular a permanncia na escola, sozinhos quebram
apenas parcialmente esse crculo vicioso.
De outro lado, os insumos educacionais previstos nas
polticas pblicas so distribudos desigualmente. Essa
dinmica perversa se reproduz regionalmente, nos mu-
nicpios, nos bairros e at dentro de uma mesma escola. A
lgica recorrente : quem mais necessita, menos recebe. O
resultado que as trajetrias escolares so pr-determina-
das; assim, numa mesma escola, a organizao das variveis
administrativas e pedaggicas estabelecem quem ser bem
ou mal sucedido nos estudos. Obviamente h excees,
tanto individuais quanto de unidades escolares ou redes de
ensino. comum que os meios de comunicao mostrem
redes de ensino ou escolas sem recursos que atingem bons
desempenhos em exames de avaliao.
Essas informaes podem induzir idia que os pro-
blemas enfrentados pela educao no Brasil se resumem
m gesto dos recursos. No s. Faltam recursos, como
demonstra o estudo Custo Aluno Qualidade da Educao
(2006), elaborado pela Campanha Nacional pelo Direito
Educao. E tambm falta tornar pblica a gesto da edu-
cao, garantindo que a sociedade participe da defnio de
seus rumos, estratgias e controle de resultados.
O desafo da implantao de uma oferta pblica de
qualidade e universal para a populao brasileira passa pelo
enfrentamento dessa complexidade de fatores.
I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS
446
INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS
LADISLAU DOWBOR*
Indicadores sistematizados constituem um poderoso instrumento de conhecimento da realidade
*Economista poltico pela Universidade de Lausanne, Sua, doutor em Cincias
Econmicas pela Escola Central de Planejamento e Estatstica de Varsvia, Polnia,
e professor titular no departamento de ps-graduao da PUC-SP (http://dowbor.org)
* ladislau@dowbor.org
A cidade de So Paulo est se modernizando. H algumas
dcadas, tnhamos um carro para cada cinco habitantes. Hoje
temos um carro para cada dois. Isso uma forma de ver as
coisas. Como mais carros na rua signifca termos ruas mais
cheias, a nossa velocidade mdia baixou para 14 quilme-
tros por hora. Ou seja, gastamos cada vez mais com meios
modernos de transporte e andamos cada vez mais devagar. O
indicador de carros por habitante melhorou, mas o indicador
de fuidez de trnsito piorou. Alis, como termos mais carros
implica em mais gastos com gasolina, peas, asfalto alm
dos prprios veculos , podemos dizer que o efeito positivo
em outro indicador, o PIB por habitante.
Assim, a opo da cidade de So Paulo pelo transporte indi-
vidual, em vez de transporte coletivo, vai ser apresentada como
pujana econmicapelo governo, como idiotice por tcnicos
em transporte urbano, como taxa de crescimento pelo Banco
Mundial, como desastre ambiental pelos mais conscientes, que
alis mostraro como prova do seu argumento os indicadores
crescentes de doenas respiratrias na cidade (ver Poluio
Urbana, pg. 405 e Transporte Urbano, pg. 409). A
concluso simples: o indicador apenas indica uma dimenso
de cada problema e no substitui a necessidade de se analisar
cada fenmeno na sua complexidade.
Mas isso no retira a utilidade do indicador. Uma cidade
norte-americana estava apresentando um crescimento im-
pressionante do nmero de pessoas hospitalizadas, por ano,
por mil habitantes. um indicador que apenas indica que
h um problema, mas alertou as autoridades da sade, que
foram buscar as causas da hospitalizao. Constatou-se que
o hospital era privado e, como empresa privada no vive sem
clientes, passou a gratifcar com cem dlares qualquer mdico
que encaminhasse algum ao hospital. No caso, o indicador
no refetia um problema de sade fsica da populao, mas
um problema de sanidade mental dos donos do hospital. O
essencial que, se no houvesse a obrigao da secretaria
local da sade publicar uma srie de indicadores, ningum teria
atentado para o problema.
O indicador permite que a sociedade se administre de
maneira mais racional. No oeste paranaense, um grupo de
municpios decidiu elaborar um conjunto de indicadores de
qualidade de vida. Identifcaram como indicadores a taxa de
analfabetismo, o dfcit habitacional, a taxa de favelamento,
a taxa de atendimento com gua tratada, a taxa de coleta e
de tratamento de esgotos, o consumo de energia eltrica, o
percentual de coleta seletiva de lixo, o ndice de rea verde na
cidade, a mortalidade infantil, a esperana de vida ao nascer,
a taxa de homicdios, o nvel de emprego, a renda per capita e
alguns outros. Cada um desses indicadores pode ter diversos
sentidos. No entanto, tomados como bateria, permitem ter
uma noo simples e clara da evoluo da qualidade de vida
na cidade. Na cidade de Jacksonville, nos Estados Unidos,
as ONGs locais elaboram anualmente um relatrio sobre
a qualidade de vida na cidade (www.jcci.org). Em outros
termos, em vez de votar no candidato que distribui mais
camisetas na vspera da eleio, a populao pode passar a
votar no administrador que apresenta resultados concretos
em termos de melhoria da qualidade de sua vida. Tomados
no seu conjunto, indicadores sistematizados constituem um
poderoso instrumento de conhecimento da realidade.
De forma geral, pode-se elaborar indicadores para quase
qualquer atividade. E as novas tecnologias digitais levaram a um
dilvio de informaes na TV, nos jornais, na Internet. No entan-
to, nunca nos sentimos to desinformados. A realidade que ter
uma montanha de informaes no resolve nada, pois temos
de selecionar de maneira inteligente a informao que nos
interessa. Informao mal organizada intil. Da a necessidade
de separarmos dados (informao bruta), informao (dados
sistematizados), conhecimento (informao disponibilizada em
funo de um objetivo concreto) e sabedoria (conhecimento e
os valores que permitem a sua sbia utilizao).
Um conjunto tpico de indicadores nos fornecido pelo
Banco Mundial, que publica anualmente o Relatrio sobre o
Desenvolvimento Mundial. Mas o Banco Mundial considera
que no centro do processo do desenvolvimento est o PIB e,
em conseqncia, concentra os seus indicadores na medio
I
N
D
I
C
A
D
O
R
E
S
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 447
INDICADORES SOCIOAMBIENTAIS
SAIBA MAIS Dowbor, Ladislau. Informao para
a Cidadania e o Desenvolvimento Sustentvel,
(http://dowbor.org); Hazel Henderson (www.
hazelhenderson.com); Gadrey, Jean; Jany-Carti-
ce, Floresce. Os novos indicadores de riqueza. Se-
nac, 2006 (http://dowbor.org/resenhas.asp ).
VEJA TAMBM Consumo Sustentvel (pg. 428);
Desenvolvimento Humano (pg. 435); Responsabi-
lidade Socioambiental Corporativa (pg. 452).
da produo econmica e hierarquiza os pases segundo
o PIB per capita, volume de bens e servios produzido
anualmente e por habitante em cada pas. No que o Banco
Mundial no d importncia ao social e ao ambiental, mas
considera que, se tivermos produo, logo recursos, o resto
se resolve (ver Crescimento Econmico, pg. 433).
Desenvolvimento humano
A partir de 1990, as Naes Unidas resolveram mudar o
raciocnio. Primeiro, vendo que o PIB no basta para saber se
um pas est bem ou no, acrescentaram indicadores de edu-
cao e de sade: nasceu assim o ndice de Desenvolvimento
Humano (IDH). Segundo, inverteram a prioridade das coisas:
enquanto o Banco Mundial achava que a educao coisa
boa, pois as pessoas trabalhariam melhor nas empresas,
o Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), que elabora anualmente o Relatrio sobre o Desen-
volvimento Humano, considera que ter uma vida com sade,
educao, cultura, habitao, segurana e meio ambiente
o que queremos. Ou seja, o objetivo o socioambiental e
as empresas so apenas um meio. Essa virada teve grande
importncia, pois colocou o ser humano e o seu meio
ambiente no centro das preocupaes.
A imagem que surgiu desse enfoque interessante.
Constata-se que no conseguimos os 6 bilhes de dlares
necessrios para colocar nas escolas as crianas do mundo
que esto fora, mas se gastam 8 bilhes de dlares para
cosmticos nos EUA. No se conseguem os 13 bilhes de
dlares necessrios para assegurar sade e nutrio bsicas,
mas se gastam 17 bilhes com alimentos para animais de
estimao na Europa e nos EUA, alm dos 50 bilhes com
cigarros na Europa, 400 bilhes com narcticos no mundo,
800 bilhes de dlares com armas. Vieram assim tona as
imensas distores das nossas prioridades.
O prprio mundo empresarial teve de comear a se
adaptar: no basta um banco, por exemplo, encher o bolso dos
seus acionistas. A sua atividade est sendo socialmente til?
Os direitos trabalhistas esto sendo respeitados? O seu produto
melhora a qualidade de vida da sociedade? Nascia assim um
conjunto de metodologias de elaborao de indicadores que
permitem hoje avaliar a responsabilidade social e ambiental
das empresas. Esse tipo de avaliao permite que se hierarquize
as empresas em funo da sua utilidade social e ambiental e
que as pessoas possam, por exemplo, fazer aplicaes fnan-
ceiras em funo dessa utilidade, ou comprar de empresas que
no utilizem agrotxicos e assim por diante.
Mais recentemente, e expandindo os esforos das Naes
Unidas, tm surgido metodologias mais sofsticadas como os
indicadores Calvert-Henderson, que ordenam as informaes
em torno da qualidade de vida, e inmeras organizaes da
sociedade civil tm trabalhado indicadores de efcincia de
polticas sociais e ambientais. Os indicadores tornaram-se assim
um instrumento fundamental das polticas de desenvolvimento
em geral, mas com metodologias mais adequadas.
Nessa linha, o Banco Mundial, nos seus relatrios mais
recentes, passou a considerar que um pas exportar petrleo
no constitui um aumento do PIB, mas uma descapitaliza-
o das suas riquezas naturais. A Universidade das Naes
Unidas avalia a concentrao de riqueza no mundo (e no
mais s a concentrao de renda). Na Frana, trabalha-se o
Barmetro de desigualdade e de pobreza, surge o ndice
de bem-estar econmico, o ndice de bem-estar econmico
sustentvel, o Indicador de progresso genuno e outros, de
maneira cada vez mais organizada, de forma que passamos
a dispor de medidas que avaliam os resultados prticos
em termos de bem-estar das populaes. Ou seja, pela
primeira vez, estamos realmente medindo a utilidade social
das nossas atividades. Uma sociedade onde a economia
vai bem, mas o povo vai mal e o Planeta dilapidado,
evidentemente uma sociedade sem rumos.
Na realidade, gerar instrumentos que permitam popu-
lao avaliar o progresso genunoe a sua qualidade de vida,
o que Jean Gadrey chama de performance societal, tende a
reequilibrar os critrios de deciso na sociedade.
P
O
L
T
I
C
A
A
M
B
I
E
N
T
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 448
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
POLTICA AMBIENTAL
ADRIANA RAMOS*
O sucesso das polticas ambientais depende tanto das demais polticas do Pas quanto
da ao dos rgos ambientais. Mas nem todos assumem seu papel
*Coordenadora da Iniciativa Amaznica do ISA
Chamamos de poltica ambiental o conjunto de
decises e aes estratgicas que visam promover a
conservao e o uso sustentvel dos recursos naturais.
A poltica ambiental, portanto, tem interfaces diretas
com todas as demais polticas que promovem o uso dos
recursos. Por isso, embora a responsabilidade pelo seu
estabelecimento seja dos rgos ambientais, todas as
demais reas de governo tem um papel a cumprir na
execuo das polticas ambientais.
No Brasil, as primeiras iniciativas governamentais
de instituir mecanismos para a gesto ambiental datam
do inicio do sculo XIX, com a criao do Jardim Botnico,
no Rio de Janeiro, e do Servio Florestal, que funcionou
de 1921 a 1959, sendo sucedido pelo Departamento de
Recursos Naturais Renovveis e, em 1967, pelo Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF). Em 1973,
foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente (Sema),
no mbito do Ministrio do Interior, tendo como titular
Paulo Nogueira-Neto (ver Arquiteto das Unidades de
Conservao no Brasil, pg. 159).
Foi a Lei da Poltica Nacional de Meio Ambiente (Lei
6.938 de 1981) que estabeleceu a estrutura formal do
Sistema Nacional de Meio Ambiente (Sisnama), que integra
rgos federais, estaduais e municipais e tem sua instncia
mxima no Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama),
rgo mximo do Sistema, composto hoje por 108 repre-
sentantes dos governos federal, estaduais e municipais e de
entidades ambientalistas, setores empresariais (indstria,
comrcio e agricultura), populaes tradicionais e indgenas
e comunidade cientfca.
Em 1985, foi criado o Ministrio do Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente e, em 1989, o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovveis
(Ibama), que fundiu a Sema Superintendncia do De-
senvolvimento da Pesca (Sudepe) e ao IBDF, vinculados ao
Ministrio da Agricultura e Superintendncia da Borracha
(Sudhevea). Em 1999, a questo ambiental passou a ser
tratada no mbito de uma secretaria especial da Presidncia
da Repblica, tendo a frente Jos Lutzemberger (ver Jos
Lutzemberger, pg. 417) e, em 1992, ano da Conferncia
das Naes Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvi-
mento, realizada no Rio de Janeiro, foi fnalmente criado o
Ministrio do Meio Ambiente.
A Eco-92, como fcou conhecido o evento, foi um marco
na histria da poltica ambiental brasileira. A visibilidade
que a mdia deu ao encontro fez com que as questes
ambientais e suas relaes com o desenvolvimento no
pudessem mais ser ignoradas, nem pelos governos, nem
pelos cidados (ver Fruns e Conferncias Internacio-
nais, pg. 493).
Foi a partir da Eco-92 que surgiram iniciativas rele-
vantes que foram a base da poltica ambiental brasileira
nos ltimos anos, principalmente na consolidao de me-
canismos de participao da sociedade nos programas de
governo. Foi o caso do Programa Piloto para a Conservao
das Florestas Tropicais do Brasil, o PP-G7, responsvel pela
implementao de diversos projetos, pela estruturao dos
rgos estaduais de meio ambiente e pela consolidao de
um forte movimento socioambientalista (ver Socioam-
bientalismo, pg. 461).
A criao de reas protegidas, as unidades de conser-
vao (parques nacionais, reservas biolgicas etc.) sempre
foi um dos instrumentos mais importantes das polticas
de conservao de biodiversidade. Dentre as categorias
de unidades de conservao previstas na legislao esto
as Reservas Particulares do Patrimnio Natural (RPPNs),
reas protegidas privadas, reconhecidas pelo poder pblico.
A parceria entre governo e sociedade na gesto de reas
protegidas, chamada co-gesto, tambm um mecanismo
importante embora ainda pouco utilizado (ver reas
Protegidas, pg. 261).
A mudana histrica mais signifcativa nas polticas
ambientais foi a introduo da noo de desenvolvi-
mento sustentvel, que embora j estivesse implcita
P
O
L
T
I
C
A
A
M
B
I
E
N
T
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 449
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
Todo empreendimento ou construo que gere um
impacto signifcativo precisa de licenciamento ambien-
tal. Dependendo da extenso e da localizao da obra, a
licena pode ser emitida pelo rgo estadual ou federal,
no caso o Ibama. Empreendimentos de impacto local,
como pequenas indstrias ou postos de combustveis
so de responsabilidade do municpio. J empresas
que provocam algum tipo de poluio em uma regio,
o licenciamento do rgo estadual. Mas se a fbrica,
a hidreltrica ou qualquer outra obra causar impactos
diretos, em dois ou mais estados ou em outros pases,
o licenciamento deve ser federal.
A legislao brasileira determina os passos para
o licenciamento desde 1981. Antes disso, grandes
obras, como as usinas de Itaipu, Tucuru, a Rodovia
Transamaznica, simplesmente eram executadas sem
a menor preocupao com o ambiente e com as pessoas
que iam ser prejudicadas. dessa poca o surgimento
do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB). (ver
Legislao Ambiental, Poltica Nacional do Meio
Ambiente, pg. 482). O processo para liberao de
uma obra pode demorar anos, dependendo do caso.
O licenciamento tem vrias etapas, que devem estar
previstas em trs fases: a licena prvia (LP), a licena
de instalao (LI) e a licena de operao (LO).
O rgo ambiental s deve dar a LP depois de ana-
lisados todos os estudos para a realizao da obra. Em
grandes empreendimentos os dados so apresentados
no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e no Relatrio de
Impacto Ambiental (Rima). O EIA mais abrangente,
detalhado e tcnico. J o Rima deve ter linguagem
acessvel para que o pblico que ser afetado pela
construo saiba o que pode acontecer com o ambiente
e, conseqentemente, com a sua qualidade de vida.
nessa fase que so realizadas as audincias pblicas,
para que a comunidade opine e tire dvidas sobre o
projeto. A realizao dessas consultas no signifca
que o empreendimento seja concretizado. Nesses
encontros, o rgo ambiental deve considerar os pontos
levantados para anlise da viabilidade ambiental. Essa
pode ser a fase mais demorada do processo.
Para a obra comear preciso ter a LI. Nessa etapa,
o empreendedor precisa executar uma srie de exign-
cias para a construo. No caso de uma estrada, por
exemplo, onde ser o bota-fora, ou seja, onde sero
destinados os rejeitos para a abertura da rodovia, como
ser a feita a drenagem da gua, se a obra ir provocar
assoreamento em algum curso dgua da regio.
Ainda nessa fase, so defnidos alguns procedimentos
que devem ser realizados pelos operrios durante o
trabalho, para que o impacto seja minimizado.
Por ltimo, depois da obra pronta, vem a LO. Todas
as indstrias, petroqumicas, gasodutos s podem
comear a funcionar com a LO. E essa licena renovada
de tempos em tempos, dependendo do tipo de trabalho.
Quanto maior o potencial poluidor, mais critrios so
apontados na LO. Nesse caso, o empreendedor precisa
cumprir o volume de lanamento de efuente ou emisso
estipulado na licena. Se for de at 30 metros cbicos
por segundo, no pode ser de 45 ou 60, por exemplo. Se
ele no cumprir o que est determinado na LO, podem
acontecer desastres ambientais ou acidentes, como a
mortandade de peixes e a alterao na qualidade do ar
e da gua para abastecimento. (ver Riscos e Acidentes
Ambientais, pg. 456). Depois de todos esses cuidados,
preciso que o rgo ambiental verifque o cumprimento
das condicionantes determinadas pela licena. Mas da
j outra fase do controle ambiental, a fscalizao.
Mas como se sabe, no Brasil h muita demanda e pouco
tcnico na rea ambiental, por isso muito importante
que a sociedade acompanhe de perto o cumprimento da
legislao e da licena que foi emitida.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL:
PASSOS PARA REDUZIR A DEGRADAO
SLVIA FRANZ MARCUZZO*
*Jornalista, foi coordenadora das assessorias de comunicao da Sema/Fepam RS
e da Rede de ONGs da Mata Atlntica * silvimarcuzzo@hotmail.com
P
O
L
T
I
C
A
A
M
B
I
E
N
T
A
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 450
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
QUEM FAZ A HISTRIA
MARINA SILVA
Nascida no Seringal Bagao, no Acre, Marina
Silva aprendeu a ler e escrever aos 16 anos.
Formada em histria, fundou a CUT no Acre
junto com Chico Mendes, com quem liderou o
movimento de resistncia dos seringueiros do Acre
contra a derrubada da foresta, com os famosos
empates. Em 1988, foi a vereadora mais votada
em Rio Branco e, em 1990, repetiu o feito como
deputada estadual. Foi eleita senadora duas vezes,
cargo do qual se licenciou para assumir, em 2003,
o Ministrio do Meio Ambiente. Ganhadora do
Prmio Goldman de Meio Ambiente, em 1996,
Marina reconhecida internacionalmente por sua
militncia socioambiental. No Ministrio do Meio
Ambiente assumiu como desafo implementar
a transversalidade das polticas ambientais com
os demais setores de governo e vem travando
embates constantes com setores do governo que
defendem a flexibilizao das regras de licen-
ciamento ambiental, a liberao de organismos
geneticamente modificados e a retomada da
construo da usina nuclear de Angra 3.
nos documentos internacionais na primeira Conferncia
de Meio Ambiente, em 1972, em Estocolmo, surgiu como
um paradigma defnitivo no relatrio Brundtland (1987),
servindo como base para os acordos frmados durante a
Eco-92. Alm de consolidarem mecanismos de participa-
o da sociedade nos processos de discusso, defnio e
implementao das polticas ambientais, os documentos
da reunio introduziram a pauta da sustentabilidade
social e ambiental nas discusses das polticas pblicas
de desenvolvimento regional (ver Desenvolvimento
Sustentvel, pg. 439).
Com isso, alm das polticas especfcas de conservao
dos recursos naturais, a interface com outras polticas
voltadas ao desenvolvimento, como o caso das ques-
tes relativas aos transportes, energia, ao comrcio e
SAIBA MAIS Ibama (www.ibama.gov.br) e sites
dos rgos estaduais e municipais de meio am-
biente. (ver Diretrio, pg. 517).
VEJA TAMBM Legislao Brasileira (pg. 481).
indstria, por exemplo, passou a ser parte fundamental
dos esforos do setor ambiental. o que chamamos de
transversalidade.
Implementar essa integrao entretanto no tarefa
simples. Implica em estabelecer parmetros que garan-
tam a manuteno dos recursos naturais necessrios
qualidade de vida das atuais e futuras geraes. Em
muitos casos significa estabelecer limites para atividades
econmicas, tais como agropecuria, minerao, imobili-
ria, entre outras. E negociar os limites do lucro de alguns
em funo da manuteno do bem-estar de outros o
componente mais difcil das polticas ambientais (ver
Desenvolvimento sim, de qualquer jeito no, pg.
78). Algumas iniciativas recentes tentam estabelecer
mecanismos para fazer essa concertao. So os planos
interministeriais, como o Plano de Ao para a Preveno
e Controle do Desmatamento na Amaznia Legal, que
prev o desenvolvimento de aes sob a responsabilidade
de 13 ministrios, incluindo Ministrio da Agricultura,
Pecuria e Abastecimento (ver Desmatamento, pg.
276). O modelo, entretanto, ainda enfrenta resistncias
em diferentes reas do governo.
A grande contradio histrica da poltica ambiental
brasileira est na boa qualidade de nossas leis e no no
cumprimento delas. O Brasil tem um arcabouo legal de
proteo ambiental invejvel. Exemplos disso so a Lei de
Crimes Ambientais, o Cdigo Florestal, entre outras. Mas a
falta de capacidade institucional e poltica para promover o
cumprimento da lei, seja pelo estmulo aos procedimentos
adequados, seja pela coero s atividades irregulares por
meio de mecanismos de controle e fscalizao. Apesar dos
grandes avanos no envolvimento da sociedade nas ques-
tes ambientais nas ltimas dcadas e na conscientizao
da opinio pblica em geral quanto relevncia dos temas
ambientais, h muito ainda a ser feito para que o Pas possa
se orgulhar de uma poltica ambiental efetiva.
R
E
F
O
R
M
A
T
R
I
B
U
T
R
I
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 451
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
REFORMA TRIBUTRIA
ROBERTO SMERALDI*
Como os impostos podem ser usados para implementar polticas ambientais
Fazer respeitar normas custa dinheiro e demora tempo.
J usar impostos para atingir os mesmos objetivos pode ser,
em certos casos, mais efcaz, rpido e ainda gerar recursos.
Por isso, o instrumento tributrio vem sendo usado de
forma crescente para implementar polticas ambientais. A
taxao ambiental atinge na mdia 2% do PIB nos pases
industrializados (ver Crescimento Econmico, pg. 433).
Os picos so alcanados nos pases do Norte da Europa (at
5%) e o mnimo nos EUA e Mxico, que fcam no 1%.
Volume de arrecadao e efetividade ambiental do
imposto nem sempre andam juntos. A taxa ambiental sobre
pilhas com niquel-cdmio na Dinamarca foi to bem sucedida
que desestimulou o consumo do produto, at exclu-lo do
mercado. Resultado: a arrecadao foi zerada, mas a taxa
atingiu seu objetivo. Portanto, os tributos ambientais podem
ter fnalidades fscais, isto gerar uma boa arrecadao, ou
no-fscais, ou seja induzir ou prevenir certos comportamen-
tos, mas sendo inexpressivos em termos de arrecadao.
Incentivos
No Brasil, o recente debate sobre reforma tributria
gerou a expectativa de uma reforma tributria sustentvel. A
negociao poltica levou porm a reduzir muito o escopo
da reforma, que deixou de enfocar a economia do Pas
para se concentrar apenas nas contas pblicas. Dessa forma,
muitas propostas que foram elaboradas e apoiadas pela
sociedade civil acabaram nem sendo discutidas. Uma
mudana de princpio, pelo menos, foi introduzida: o artigo
170 da Constituio exige agora tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e servios e de
seus processos de elaborao e prestao.
A reforma tributria sustentvel proposta pelas principais
instituies ambientalistas brasileiras fscalmente neutra, ou
seja, prev que novos impostos (ou aumentos de alquotas)
sejam compensados por incentivos equivalentes. Ela segue a
teoria conhecida como do duplo dividendo: desonerar o capital
humano (principalmente o trabalho, para gerar mais emprego)
para onerar de forma compensatria o capital natural (princi-
palmente o uso de recursos no-renovveis). Em suma, por um
lado reduzir os tributos sobre a contratao de pessoal e, por
outro, taxar uso de combustveis fsseis, gerao de resduos
no aproveitados, emisses de poluentes (mesmo que dentro
da lei), extrao e uso de recursos minerais, explorao de fauna
e fora que no seja objeto de manejo, cultivo ou criao (por
exemplo, desmatamento).
*Jornalista, diretor da Oscip Amigos da Terra - Amaznia Brasileira
Sociodiversidade e biodiversidade defnem o Brasil
em um mundo em acelerado processo de globalizao.
Mas o desenvolvimento predatrio e socialmente excludente
dilapida o patrimnio, corri a identidade e agrava a crise
brasileira. O futuro pede como passaporte uma nova sntese:
a sustentabilidade socioambiental.
(um dos motes da criao do ISA em 1994)
VEJA TAMBM Desmatamento (pg. 276);
Desafo do Sculo (pg. 373); Contabilidade Am-
biental (pg. 431).
R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
I
D
A
D
E
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
C
O
R
P
O
R
A
T
I
V
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 452
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
CORPORATIVA
JACQUES DEMAJOROVIC*
Alm de cumprir com todos os requisitos que a lei exige, uma empresa deve ter
um comportamento tico em todos os campos
*Coordenador do curso de Bacharel em Gesto Ambiental da Faculdade de Cincias
Ambientais do Centro Universitrio Senac * jacques.demajorovic@sp.senac.br
Ter um comportamento tico em relao ao meio
ambiente, trabalhadores e comunidade no seria natural?
Poderia parecer que sim. No entanto, este assunto at
recentemente no era de grande interesse das empresas.
Afnal, em um contexto em que se considerava que a nica
responsabilidade das empresas era com seus acionistas e
trabalhadores, na forma de lucro e salrios, um assunto
como Responsabilidade Socioambiental Corporativa no
fazia o menor sentido. Na verdade, h ainda hoje um nmero
grande de defensores desta viso clssica, bastante crtica
em relao adoo de uma poltica empresarial de res-
ponsabilidade socioambiental. Para muitos destes crticos,
a nica coisa que poderamos chamar de responsabilidade
socioambiental da empresa a maximizao dos lucros,
que reverteria em benefcios para a sociedade na forma de
salrios e impostos.
Mas ser que este raciocnio continua vlido? Com
as mudanas em curso na sociedade, a falta de respon-
sabilidade socioambiental corporativa observada em
diversos exemplos nos ltimos anos vem sinalizando para
as empresas que os custos associados ausncia de tais
estratgias no se restringem ampliao da exposio de
trabalhadores e da comunidade a riscos socioambientais,
destacando-se, alm destes, os impactos nas fnanas e na
imagem das organizaes.
Nova postura
Grandes acidentes, como o vazamento de 41 mil to-
neladas de metil-isocianato (gs letal usado na fabricao
de pesticidas), em uma unidade da Union Carbide em
A
R
A
Q
U
M
A
L
C
N
T
A
R
A
Investimentos diminuram poluio em Cubato (SP), antes chamada vale da morte. Mas ainda h muito por fazer.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
I
D
A
D
E
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
C
O
R
P
O
R
A
T
I
V
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 453
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
UM RETRATO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS
Uma pesquisa realizada em 2004 pelo Instituto Akatu sobre responsabilidade social no Pas com 630 empresas
de pequeno, mdio e grande portes evidencia o quanto ainda preciso avanar neste debate. A pesquisa procurou
avaliar 23 aes nas sete reas propostas pelo Instituto Ethos para avaliar responsabilidade social. Ainda que, do
total das empresas pesquisadas, 81% declararem realizar alguma ao no campo da responsabilidade social,
apenas 13% afrmaram desenvolver integralmente as 23 aes analisadas. Das que realizam integralmente as
aes, 59% so de grande porte, 21% de mdio porte e 20% de pequeno. A pesquisa ainda revelou que as reas
ambiental e de incluso social no so prioridade para as empresas. Enquanto 64% afrmam no ter qualquer
programa de gerenciamento ambiental, 72% das empresas nunca discutiram o combate ao trabalho infantil com
seus fornecedores. Alm disso, 60% das empresas no apresentam como foco de sua preocupao o combate
propaganda enganosa e a promoo de diversidade tnica, sexual e religiosa.
SAIBA MAIS Akatu (www.akatu.net/conheca/pesquisa_resp_social.asp).
1984, em Bhopal (ndia), que matou 2.352 pessoas e feriu
mais de 200 mil (sendo 20 mil com disfunes pulmonares
permanentes), ou o vazamento de 1,3 milhes de litros de
leo combustvel da Petrobrs na Baa de Guanabara, em
2000, mostram que a Responsabilidade Socioambiental
Corporativa exige das empresas uma nova postura (ver
Riscos e Acidentes Ambientais, pg. 456).
Alm de cumprir com todos os requisitos que a lei exige,
uma empresa socialmente responsvel deve ter um compor-
tamento tico em todos os campos, conhecer o ambiente em
que se encontra, entender as mudanas nas normas sociais
em vigor e, em seguida, alterar seu envolvimento social para
responder a mudanas nas condies da sociedade.
Nesse sentido, uma empresa com responsabilidade
socioambiental deve, segundo o Instituto Ethos de Empresa
e Responsabilidade Social, desenvolver aes em sete
reas principais. Valorizar seu pblico interno no apenas
por meio do salrio, mas tambm criando condies para
desenvolvimento profssional e pessoal de seus empre-
gados e oferecendo oportunidades iguais para homens,
mulheres, minorias e portadores de necessidade especiais.
Negociar com seus fornecedores de forma tica e exigir
destes tambm um comportamento tico na produo de
bens e servios. Interagir com a comunidade em que est
inserida apoiando projetos de incluso social local. Respeitar
seus clientes oferecendo produtos e servios de excelente
qualidade e que no causem nenhum tipo de dano aos seus
usurios. Proteger o meio ambiente de forma a que seus
produtos e servios gerem o menor impacto ambiental pos-
svel, tanto na esfera da produo como de seu consumo e
descarte fnal. Cumprir todas as leis e relacionar-se de forma
tica com governo e sociedade. E, por fm, ser transparente
por meio da criao de indicadores de responsabilidade
socioambiental e divulg-los para as partes interessadas
de forma que a sociedade possa acompanhar a evoluo
das aes de responsabilidade socioambiental por parte
das empresas.
ZOOM
VOC SABIA?
M
Na viso do consumidor, trs temas esto em
primeiro lugar quando so perguntados sobre
quais seriam as responsabilidades mais impor-
tantes de uma empresa: apoiar campanhas para
erradicar o trabalho infantil; manter programas
de alfabetizao para funcionrios e familiares;
manter um excelente servio de atendimento
ao consumidor.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
I
D
A
D
E
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
C
O
R
P
O
R
A
T
I
V
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 454
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
Consumidores mais atentos
Para as empresas, ser transparente est deixando de
ser apenas uma questo de opo. No Brasil e no mundo,
consumidores mais responsveis defendem seus direitos e
exigem uma legislao ambiental cada vez mais restritiva.
O PAPEL DA INOVAO
MOYSS SIMANTOB*
* Professor da Escola de Administrao de Empresas de So Paulo
da Fundao Getlio Vargas (FGV-EAESP)
O termo inovao uma polissemia palavra que
assume diferentes signifcados e que necessita de um
contexto para melhor ser compreendida. Se tomarmos
a sua aplicao no contexto das organizaes, onde a
sua prtica exercida com a fnalidade de gerao de
valor econmico e, mais recentemente, de valor socio-
ambiental, ela assume o papel de qualquer mudana
que eleve o desempenho da organizao.
Se a tica for a (re)defnio de um novo padro
de competio no mercado que altere as regras do jogo
de um setor de negcio no qual o consumidor perceba
valor, por exemplo, uma convenincia que facilite a sua
vida ou uma experincia que o emocione e traga mais
prazer de viver, a inovao se revela no design funcional
e na simplicidade de uso.
Mas a inovao no acontece s dentro de empresas
e sua infuncia no ocorre apenas em mercados. A sua
ao se d tambm nas ruas, em movimentos populares
que fazem surgir uma diversidade de comunidades
artsticas, como se pode notar pela popularizao e pelo
alcance internacional do hip hop e de outros movimentos
sociais que levam a msica, a arte e o esporte para a
periferia das grandes cidades, revelando grande infu-
ncia em diferentes classes sociais, que estimulam um
repensar e um redesenho de padres de comportamento,
de consumo e, cada vez mais, de linguagem quem j
no ouviu jovens da classe mdia repetir a gria que se
consolidou como bordo: 't ligado'? Em resumo: se a
msica vende, atende uma necessidade do consumidor
que a consome e gera valor para quem a produz, ningum
duvidaria da efccia desse tipo de inovao.
Quando a inovao vem associada ao adjetivo
sustentvel, no com o sentido da palavra que expressa
a capacidade de sobreviver, crescer e perpetuar da
organizao, o que por si s j no signifca pouco, mas
com fnalidade relacionada com polticas e iniciativas
que respeitem a sociedade e o meio ambiente, cuja ao
nasce de uma prtica deliberada e em base sistemtica,
que permita orientar esforos, recursos e metas para en-
frentar os desafos que possam contribuir para avanar na
busca de padres de desenvolvimento sustentvel (ver
Desenvolvimento Sustentvel, pg. 439), dentro
de uma perspectiva duradoura e consistente, tornando-
se de fato uma organizao alinhada ao desenvolvimento
regional, nacional, infra-nacional, em suma, do Planeta,
a sim, essa organizao, alm de inovadora, pode fazer
por merecer o binmio inovadora sustentvel.
O desafo para as empresas perseguir a susten-
tabilidade do desenvolvimento, que se desagrega em
cinco dimenses: a sustentabilidade social, econmica,
O QUE SISTEMA
NACIONAL DE INOVAO
O conceito de Sistema Nacional de
Inovao foi desenvolvido no fnal do sculo
XX e defne uma rede de instituies, tanto
pblicas quanto privadas, cujas atividades e
interaes iniciam, importam, modifcam e
difundem novas tecnologias.
A presso exercida pela sociedade sobre o empre-
sariado impe mudanas no mercado e nos padres
de concorrncia e competitividade, na medida em que
questes sociais e ambientais se tornam critrios de
aceitao de uma empresa. Isso estimulou a identificao
R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
I
D
A
D
E
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
C
O
R
P
O
R
A
T
I
V
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 455
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
ECOEFICINCIA
As organizaes empresariais consomem grande
quantidade de recursos como gua e energia e
geram resduos slidos e diversos tipos de poluentes
que apresentam um elevado potencial de impacto
ambiental. Para minimizar tais impactos, muitas
empresas esto implementando estratgias de eco-
efcincia, ou seja, aes que consigam gerar produtos
e servios com maior valor agregado e ao mesmo
tempo assegurem a reduo do consumo de recursos
e a menor gerao da poluio. Para tanto, essencial
a racionalizao do consumo de gua e energia, o au-
mento da reciclabilidade e durabilidade de produtos e
a maximizao do uso de fontes renovveis.
SAIBA MAIS Balano Social do IBASE (www.
balancosocial.org.br); Fundao Instituto de
Desenvolvimento Empresarial e Social FIDES
(www.fdes.org.br); Institutos Ethos de Empresas
e Responsabilidade Social (www.ethos.org.br).
VEJA TAMBM Consumo Sustentvel (pg. 428).
ecolgica, espacial e cultural. A primeira refere-se
construo de uma sociedade com mais equidade, que
seja capaz de reduzir as desigualdades sociais e regio-
nais. A sustentabilidade econmica inclui a preocupa-
o com o uso efciente dos recursos (ver Crescimento
Econmico, pg. 433). A sustentabilidade ecolgica
refere-se s aes para aumentar a capacidade de
suporte do Planeta para fns socialmente vlidos, tais
como limitao do consumo de combustveis fsseis
e outros recursos esgotveis e reduo da poluio. A
sustentabilidade espacial refere-se busca de uma
confgurao rural-urbana equilibrada e uma melhor
soluo para os assentamentos humanos. A susten-
tabilidade cultural relaciona-se ao respeito que deve
ser dado s diferentes culturas e s suas contribuies
para a construo de modelos de desenvolvimento
apropriados s especifcidades de cada ecossistema,
cada cultura e cada local. Assim sendo, as organizaes
inovadoras sustentveis so aquelas que buscam um
desenvolvimento socialmente includente, tecnologica-
mente prudente e economicamente efciente.
O desafo para o Brasil pas com um Sistema
Nacional de Inovao incompleto e descontnuo, com
infra-estrutura tecnolgica mnima, que possui cincia
e tecnologia, mas no a transforma em efetivo sistema
de inovao - criar condies para que foresam pol-
ticas voltadas basicamente difuso da inovao, com
forte capacidade domstica de absorver os avanos
tcnicos gerados nos sistemas maduros que tm, por
sua vez, a capacidade de manter o Pas prximo (ou
na) fronteira tecnolgica internacional.
SAIBA MAIS Barbieri, Jos Carlos; Simantob,
Moyss (Orgs.). Organizaes Inovadoras Sustent-
veis. So Paulo: Ed. Atlas, 2007.
e avaliao das empresas por meio de selos e certificados
que garantem uma atuao sustentvel e comprometida
com valores socioambientais. So exemplos dessa prtica
o selo da Fundao Abrinq, que garante que a empresa
no usa mo-de-obra infantil em sua produo e a
certificao do Conselho de Manejo Florestal (FSC), que
assegura a origem controlada da madeira (ver Manejo,
pg. 285). Tambm demanda-se das empresas cada vez
mais que publiquem seus Balanos Sociais, disponibili-
zando para os interessados seus indicadores econmicos,
ambientais e sociais.
No Brasil, o debate em torno dos balanos sociais
ganhou grande visibilidade e importncia em 1997, com
o lanamento de uma campanha pelo Instituto Brasileiro
de Anlises Sociais e Econmicas (Ibase). O objetivo dessa
iniciativa era sensibilizar e estimular a responsabilidade
das empresas na busca por solues para o desequilbrio
na estrutura social do Pas. O Ibase tambm formulou um
modelo de Balano Social, que inclui indicadores ambien-
tais, da tica trabalhista dentro da empresa e reas de
investimentos sociais.
R
I
S
C
O
S
E
A
C
I
D
E
N
T
E
S
A
M
B
I
E
N
T
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 456
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
RISCOS E ACIDENTES AMBIENTAIS
MAURA CAMPANILI*
Um grande nmero de reas contaminadas e a pouca capacidade de fscalizao e controle dos rgos
ambientais fazem do Brasil um lugar sempre em risco iminente de acidentes socioambientais
O QUE UMA
REA CONTAMINADA?
um local ou terreno onde h comprovada-
mente poluio ou contaminao causada pela
introduo de quaisquer substncias ou resduos
que nela tenham sido depositados, acumulados,
armazenados, enterrados ou infltrados de forma
planejada, acidental ou at mesmo natural. Nessa
rea, os poluentes ou contaminantes podem con-
centrar-se no solo, nos sedimentos, nas rochas, nos
materiais utilizados para aterrar os terrenos, nas
guas subterrneas ou, de forma geral, nas zonas
no saturada e saturada, alm de poderem con-
centrar-se nas paredes, nos pisos e nas estruturas
de construes. Os poluentes ou contaminantes
podem ser transportados a partir desses meios,
propagando-se por diferentes vias, como o ar, o
solo, as guas subterrneas e superfciais, alte-
rando suas caractersticas naturais de qualidade
e determinando impactos negativos e/ou riscos
para pessoas e bens, localizados na prpria rea
ou em seus arredores.
*Jornalista, editora do Almanaque Brasil Socioambiental
* maura_campanili@hotmail.com
A industrializao acelerada a partir do sculo XIX
e sobretudo durante o sculo XX trouxe ao mundo um
novo padro de risco socioambiental. Substncias sobre
as quais no se conhecia o efeito na sade e no ambiente
foram utilizadas indiscriminadamente, poluindo o ar, a
gua e o solo. Mesmo com o avano da informao e o
aparecimento das conseqn cias desse uso, o descaso, a
falta de legislao e controle e at a pobreza tm servido
de desculpa para que atividades e substncias de alto risco
continuem a ser utilizadas.
Mas no um problema apenas do terceiro mundo,
j que grande parte das reas contaminadas herana do
passado, que chamamos passivo ambiental. Elas ocorre-
ram devido a procedimentos seguidos h 40, 50 anos atrs,
quando no havia controle ambiental nem conscientizao
em relao aos perigos. Na Alemanha, por exemplo, existem
8 mil locais classifcados como reas contaminadas. No
Brasil, o estado de So Paulo divulga uma relao desde
2002, que possui atualmente 1.822 (dados de novembro de
2006) reas contaminadas. Elas so muito diferentes umas
das outras e envolvem desde lixes de resduos urbanos at
algumas com compostos qumicos perigosos, que so uma
ameaa iminente populao.
Em qualquer um dos casos, a legislao brasileira
determina que a descontaminao seja realizada por quem
a causou. O grande impasse, quando se trata dos passivos
ambientais, que muitas vezes a empresa que depositou uma substncia txica em um terreno onde foi construdo
um edifcio residencial, por exemplo, no identifcada
ou nem existe mais. Na relao de reas contaminadas de
So Paulo, 1.352 dos casos listados so de vazamento em
postos de gasolina, a maior parte da Regio Metropolitana
de So Paulo. A soluo encontrada foi cadastrar os mais de
9 mil postos do Estado e submet-los ao licenciamento
ambiental. No entanto, at meados de 2007, apenas 2%
das reas identifcadas tiveram o processo de remediao
do dano ambiental concludo.
SAIBA MAIS Cetesb (www.cetesb.sp.gov.br/Solo/
areas_cotaminadas/areas.asp); Greenpeace (www.
greenpeace.org.br/toxicos/); Veyret, Ivette (Org.).
Os Riscos: O homem como agressor e vtima do
meio ambiente. So Paulo: Editora Contexto, 2007.
VEJA TAMBM Baa de Guanabara (pg. 382);
Responsabilidade Socioambiental Corporativa (pg.
452); Acordos Internacionais (pg. 476).
R
I
S
C
O
S
E
A
C
I
D
E
N
T
E
S
A
M
B
I
E
N
T
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 457
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
VOC SABIA?
M
Em 1987, em Goinia, uma cpsula contendo o material radioativo csio 137, deixada no lixo, provocou
a morte de quatro pessoas e a contaminao de outras centenas.
M
Em 2000, aconteceram os dois piores acidentes envolvendo vazamento de petrleo no Brasil, ambos da Petro-
brs: em janeiro, o rompimento de um duto provocou o vazamento de 1,3 milhes de litros de leo combustvel
na Baa de Guanabara e, em julho, vazaram cerca de 4 milhes de litros de petrleo da Refnaria Presidente
Getlio Vargas (Repar), no municpio de Araucria, a 24 quilmetros de Curitiba, poluindo o Rio Iguau.
M
O ltimo grande acidente ambiental no Brasil aconteceu em maro de 2003, quando 1,2 bilho de litros
de rejeitos txicos dos reservatrios da Indstria de Papel Cataguazes, localizada no municpio de Cataguases,
em Minas Gerais, vazaram nos rios Pomba e Paraba do Sul. O desastre deixou um milho de pessoas sem
gua em suas casas por duas semanas, em cidades de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Esprito Santo.
M
Por duas vezes, em maro de 2006 e janeiro de 2007, o vazamento de resduos usados na limpeza de
um tipo de minrio a bauxita contaminou rios e alagou e deixou cidades sem gua em Minas Gerais. A
empresa que causou o vazamento pertence a um grupo chamado Cataguases, por coincidncia o mesmo
nome da empresa que causou o vazamento de 2003.
M
O maior desastre ambiental dos Estados Unidos aconteceu em 1989, quando o petroleiro Exxon Valdez
cobriu 250 quilmetros quadrados do mar do Alasca com cerca de 40 milhes de litros de leo.
M
O maior desastre qumico da histria aconteceu em dezembro de 1984, em Bhopal, ndia, quando 40
toneladas de gases letais vazaram da fbrica de agrotxicos da Union Carbide Corporation. Estima-se que
trs dias aps o vazamento 8 mil pessoas j tinham morrido devido exposio direta aos gases.
OS POPS
Entre os poluentes txicos considerados mais nocivos ao meio ambiente e sade pblica esto os Poluentes
Orgnicos Persistentes (POPs). O banimento desses produtos est previsto no Tratado de Estocolmo, que entrou em
vigor em maio de 2004. O Brasil assinou o tratado, mas ainda no o ratifcou, para que seja considerado lei no Pas
(ver Acordos Internacionais, pg. 479). Os POPs so substncias qumicas sintetizadas pelo homem constitudas
basicamente de carbono, hidrognio e cloro originando-se principalmente como produtos e subprodutos da atividade
industrial e da incinerao, principalmente de resduos industriais, mas tambm de lixo domstico. Os principais so:
aldrin, clordane, dieldrin, dioxinas, DDT, endrin, furanos, heptacloro, hexaclorobenzeno (HCB), mirex, policloretos de
bineflas (PCBs) e toxafeno. So substncias txicas persistentes (resistem dcadas degradao no meio ambiente),
bioacumulativas (persistem por muito tempo nos tecidos de seres vivos expostos) e biamagnifcantes (acumulam-se
em maior concentrao nos seres do topo da cadeia alimentar, entre os quais o prprio homem).
Entre as doenas que provocam esto distrbios dermatolgicos, hepticos, renais, respiratrios, imuno-
comportamentais e hormonais, alm de cncer e anomalias em fetos. Segundo a Associao de Combate aos POPs
(ACPO), os casos mais graves de contaminao por POPs no Brasil so os da Rhodia, na Baixada Santista, Shell, em
Paulnia e So Paulo, e Solvay, em Santo Andr, todas no estado de So Paulo.
ZOOM
R
I
S
C
O
S
E
A
C
I
D
E
N
T
E
S
A
M
B
I
E
N
T
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 458
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
Um relatrio internacional preparado pelo Greenpea-
ce, em 2002, inclui 17 dos casos mais conhecidos de con-
taminao industrial no Brasil, ocorridos em cinco estados
(So Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do
Sul e Pernambuco). So eles: Acumuladores jax (Bauru,
SP), Aterro Mantovani (Santo Antnio da Posse, SP), Shell
Paulnia e Vila Carioca (SP), Eternit/Brasilite (Osasco, SP),
Solvay (Santo Andr, SP), Dow Qumica (Guaruj, SP),
Tonolli (Jacare/SP), Riocel (Guaba, RS), Gerdau Riogran-
QUEM FAZ A HISTRIA
FERNANDA GIANNASI E A LUTA CONTRA O AMIANTO
O primeiro caso cientifcamente reconhecido de asbestose, doena pulmonar geralmente progressiva e
irreversvel causada pelo contato com o amianto (ou asbesto), foi em 1906, na Inglaterra, em um trabalhador
txtil e que era o nico sobrevivente de um grupo de 11. No Brasil, o problema s comeou a ser identifcado em
1985, quando a auditora-fscal do Ministrio do Trabalho em So Paulo, Fernanda Giannasi, comeou a levantar
os casos da ento recm-fechada fbrica da Eternit de Osasco, que foi a maior produtora de cimento-amianto do
Pas e funcionou entre 1939 a 1993. O resultado mostrou que 60% dos ex-trabalhadores encontrados (1.200 de
uma populao que se estima em 8.000) apresentavam as doenas do amianto em seus vrios estgios e alguns
deles j morreram em decorrncia do problema.
Indignada com a situao das pessoas contaminadas, Fernanda ajudou a fundao da Associao Brasileira dos
Expostos ao Amianto e a Rede Virtual-Cidad pelo Banimento do Amianto na Amrica Latina, transformando-se na
maior defensora no Pas da erradicao desse mineral pela indstria, luta na qual se mantm frente at hoje. O
passivo socioambiental do amianto no Brasil conta com cerca de 4.000 vtimas, a maior parte na regio de Osasco
e So Caetano do Sul, em So Paulo, alm de muitos casos de doentes em vrias pequenas minas de explorao
intermitente de amianto em So Paulo e Minas Gerais. Atualmente, a nica mina em explorao comercial reco-
nhecida a de Cana Brava, localizada em Minau, em Gois, que est entre os quatro maiores produtores desse
minrio do mundo (em torno de 250 mil toneladas/ano).
O amianto j proibido em 48 pases e foi eliminado na Unio Europia desde 2005 (a nica exceo o setor de
cloro-soda). No Brasil, j houve muitos avanos (como a eliminao do uso em caixas dgua e na indstria automo-
bilstica), mas o Pas ainda o quarto consumidor mundial desse mineral (atrs apenas do Casaquisto, da ndia e da
China), principalmente na construo civil (telhados, divisrias, portas contra-fogo) e vasos. Seu uso foi proibido em
20 cidades e em trs estados brasileiros: Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O Supremo Tribunal Federal
revogou as leis estaduais em So Paulo e Mato Grosso do Sul, por considerar que os estados invadiram a competncia
da Unio e julgou que causavam prejuzo a Gois, que tem 30% de sua receita bruta proveniente da explorao do
amianto. Em So Paulo, uma nova lei contra o uso de amianto foi aprovada e sancionada pelo governador em julho
deste ano, mas uma liminar impediu que entrasse em vigor. O Conama aprovou, em julho de 2004, resoluo que
classifca os resduos de amianto como perigosos e exige sua colocao em aterros especiais.
SAIBA MAIS Associao Brasileira dos Expostos ao Amianto (www.abrea.com.br).
dense (Sapucaia do Sul, RS), Bayer (Belford Roxo, RJ),
Cidade dos Meninos (Duque de Caxias, RJ), Fiat/Formiga
(Formiga, MG) e Baterias Moura (Belo Jardim, PE).
Um dos objetivos da ONG em divulgar esse tipo de
lista incentivar a promulgao em todos os pases de
leis de direito informao, que obriguem as empresas a
realizar e divulgar inventrios de todos os seus problemas
ambientais, estoques de contaminantes e lanamentos
ao ambiente.
S
E
R
V
I
O
S
A
M
B
I
E
N
T
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 459
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
SERVIOS AMBIENTAIS
LIANA JOHN*
O conceito de servios ambientais surgiu da necessidade de demonstrar que as reas naturais
cumprem funes importantes nos processos de manuteno da vida toda vida, inclusive
a do homem em oposio falsa idia de que ecossistemas intactos so improdutivos
ou obstculos ao desenvolvimento econmico
Servios ambientais so aqueles que a natureza
presta para ns, seres vivos, ao absorver, filtrar e pro-
mover a qualidade da gua, que bebemos e usamos; ao
reciclar nutrientes e assegurar a estrutura dos solos, onde
plantamos; ao manter a estabilidade do clima, ameni-
zando desastres como enchentes, secas e tempestades;
ao garantir e incrementar nossa produo agropecuria e
industrial, seja ao providenciar a necessria biodiversi-
dade e diversidade gentica para melhoria das culturas
ou para frmacos, cosmticos e novos materiais, seja
complementando processos que a tecnologia humana
no domina nem substitui como polinizao, fotossn-
tese e decomposio de resduos.
A caracterizao dos servios ambientais derivou
dos estudos de valorao ambiental e da incluso
de fatores ambientais em negociaes comerciais
e acordos internacionais, no incio dos anos 1990.
A princpio, os ser vios eram considerados custos
ambientais e estavam associados s avaliaes de
impactos de grandes obras. Logo essa caracterizao
negativa, de custo, evoluiu para um conceito positivo,
de ser vio. O termo ser vios ambientais expressa
melhor quo indissociveis so a qualidade de vida
humana e um ambiente saudvel. Florestas, cerrados,
campos, mangues ou pntanos no so espaos in-
teis a serem domados ou conquistados, mas reas
de produo dos servios ambientais.
A contribuio para a estabilizao do clima a base
da proposta brasileira de incluso da floresta em p no
acordo que dar continuidade ao Protocolo de Quioto, a
ser assinado em 2012. A proposta visa o reconhecimento
do servio ambiental prestado pela floresta amaznica
ao Planeta, mantendo o carbono fixado. Os crditos
internacionais gerados dentro dessa lgica, se aprovada
a proposta, estariam vinculados ao compromisso de
evitar o desmatamento e, portanto, evitar as emisses
resultantes da queima das rvores derrubadas (ver O
Brasil e a Mudana Climtica, pg. 365).
*Jornalista, editora-executiva da revista Terra da Gente (EPTV)
* liana@terradagente.com.br
OS EVERGLADES
Um dos exemplos mundiais mais claros da
importncia dos servios ambientais o dos Ever-
glades, no sul da Flrida, Estados Unidos. A partir
de 1890, os norte-americanos procuraram desen-
volver o pntano mal cheiroso e intil, de cerca
de 4,5 milhes de hectares, considerado um foco
de doenas e mosquitos: retiraram sua vegetao,
plantaram, drenaram as reas mais midas, cons-
truram canais e estradas, retifcaram os rios. Ento
descobriram que o pntano, na verdade, um
grande fltro natural da gua que abastece todo o
sul da Flrida e seu desenvolvimento provocou a
deteriorao desse valioso recursos natural, alm
de produzir uma srie de outros efeitos colaterais
como perda de biodiversidade, eroso, destruio
de corais na foz dos rios, eutrofzao (e morte)
de lagos, poluio por fsforo e mercrio. Tal cons-
tatao levou o governo americano a elaborar um
plano de longo prazo (35 anos) para a restaurao
dos Everglades. Orado em 7,8 bilhes de dlares,
o plano retirar os produtores rurais, desfazer os
canais de drenagem, recolocar os rios em seus
antigos e tortuosos leitos e devolver ao pntano
seu aspecto original. Para que ele possa voltar a
oferecer os servios ambientais, interrompidos no
fnal do sculo XIX.
ZOOM
S
E
R
V
I
O
S
A
M
B
I
E
N
T
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 460
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
O QUE LEVAR PARA A LUA?
NURIT BENSUSAN*
Uma boa resposta pode ser dada usando o
exemplo cunhado por Gretchen Daily: imagine que
voc est partindo para Lua a fim de levar uma vida
normal e satisfatria por l. Para tornar as coisas
mais simples, suponha que a Lua j possua atmos-
fera e clima similares aos da Terra. Voc j fez as
malas e agora deve decidir quais, entre as milhares
espcies existentes na Terra, levar consigo. Sendo
pragmtico, voc comea escolhendo as espcies
que podem ser diretamente exploradas e que
fornecero alimentos, fibras, madeira, remdios e
outros produtos tais como leos, borracha e resinas.
A lista pode atingir facilmente algumas centenas ou
mesmo milhares de espcies. Mas, se voc pensar
mais um pouco, ver que ter que adicionar lista
espcies que garantam a sobrevivncia dessas que
voc j colocou na lista. Que espcies so essas? No
h uma resposta para essa pergunta. Ningum sabe
quais so e quantas so as espcies necessrias para
sustentar a vida humana.
Voc, ento, poderia usar uma outra aproximao
e tentar enumerar os servios ambientais dos quais
voc precisaria na Lua, como por exemplo: purifcao
da gua e do ar; decomposio do lixo; gerao e
manuteno da fertilidade do solo; polinizao de
espcies alimentares e da vegetao natural; controle
de pragas e doenas; disperso de sementes; modera-
o de temperaturas extremas e da fora dos ventos; e
proteo contra os danosos raios solares ultravioletas.
Quantas espcies seria necessrio levar para garantir
esses servios? Quantas espcies, por exemplo, so
necessrias para a manuteno da fertilidade do solo?
Em uma simples grama de solo, h cerca de 30 mil
protozorios, 50 mil algas, 400 mil fungos e bilhes de
bactrias. Se ampliarmos essa escala, encontraremos
milhares de insetos e de minhocas. Que espcies levar?
A essa altura de se supor que voc j tenha desistido
da viagem a Lua.
Quanto custa
Outro prisma a importncia econmica desses
servios. Em 1997, um grupo de pesquisadores
estimou em 33 trilhes de dlares anuais, o valor
dos servios proporcionados pelos ecossistemas,
calculando o quanto custaria substituir tais servi-
os, se possvel fosse. O estudo foi realizado em 16
ambientes diferentes e, para cada um, foram con-
siderados 15 servios ambientais como regulao
da composio qumica da atmosfera; regulao
do clima; controle de eroso do solo; produo de
alimentos; regulao do fluxo de gua; suprimento
e armazenagem de gua e polinizao. Para dar uma
idia da ordem de grandeza do valor desses servios,
basta lembrar que o Produto Nacional Bruto global
est em torno de 18 trilhes de dlares por ano.
As florestas e as reas midas, como o Pantanal
Mato-grossense, responderam por 9,3 trilhes
de dlares (28,1% dos 33 trilhes de dlares) e
os sistemas costeiros por 10,6 trilhes de dlares
(32,1% do total).
No Brasil, foi realizado um estudo especfco na
Estao Ecolgica de Jata, uma rea protegida que
abrange cerca de 4.500 hectares no Estado de So
Paulo, com o intuito de calcular o valor dos servios
advindos dos ecossistemas protegidos pela Estao
Ecolgica. Foram analisados 16 servios ambientais e
concluiu-se que seu valor est em torno de 730 dlares
por hectare por ano. Ou seja, o valor total dos servios
proporcionados pela Estao equivale a 3,3 milhes
de dlares anuais.
SAIBA MAIS Santos, J.E. et al. Funes ambientais
e valores dos ecossistemas naturais. Estudo de caso:
Estao Ecolgica de Jata. In: Anais do Congresso
Brasileiro de Unidades de Conservao. v. 2.
*Coordenadora do Ncleo de Gesto do Conhecimemento do Instituto Internacional
de Educao do Brasil * nurit@iieb.org.br
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
I
S
M
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 461
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
SOCIOAMBIENTALISMO
PEDRO ROBERTO JACOBI*
O socioambientalismo brasileiro tem assumido uma crescente infuncia na formulao
e implementao de polticas pblicas e na promoo de estratgias
para um novo estilo, sustentvel, de desenvolvimento
*Professor associado da Faculdade de Educao e do Programa de Ps-Graduao em
Cincia Ambiental (Procam) da USP
A partir da segunda metade da dcada de 1980, a
temtica ambiental assume um papel bem mais relevante
no discurso dos diversos atores que compem a sociedade
brasileira. Este se expande e penetra em outras reas e
dinmicas organizacionais estimulando o engajamento de
grupos socioambientais, cientfcos, movimentos sociais
e empresariais, nos quais o discurso do desenvolvimento
sustentado assume papel de preponderncia.
A maior consistncia das idias das organizaes
ambientais e a maior visibilidade de suas aes contribuem
diretamente para que outros atores se incorporem mais efe-
tivamente no debate ambiental: grupos cientfcos e parte
do empresariado. A presena da comunidade cientfca se
multiplica e diversos centros de pesquisa interdisciplinares e
instituies acadmicas interdisciplinares de ps-graduao
em meio ambiente desempenham papel relevante em pro-
gramas e parcerias com agncias governamentais, ONGs e
empresas privadas visando a conservao e uso sustentvel
da biodiversidade.
A emergncia da mobilizao ambiental
A partir de meados da dcada de 1970, o ambienta-
lismo passa a ter maior expresso na sociedade brasileira.
Surgem diversos grupos ambientalistas, que se estruturam
no momento onde se inicia o processo de liberalizao
poltica, e pelo estmulo gerado para a questo ambiental
pela Conferncia de Estocolmo em 1972 (ver Conferncias
Internacionais, pg. 496).
(1) ndios no plenrio da Constituinte; (2) Apesar da escolta policial, Chico Mendes foi assassinado em Xapuri (AC), em
1988; (3) Encontro de Altamira: protesto dos Kayap contra as barragens do Rio Xingu; (4) Dorothy Stang, 2005.
1
2
4
3
P
A
U
L
O
T
I
B
R
I
O
/
J
O
R
N
A
L
D
E
P
I
R
A
C
I
C
A
B
A
(
S
P
)
P
A
U
L
O
J
A
R
E
S
/
V
I
D
E
F
O
T
O
L
E
O
P
O
L
D
O
S
I
L
V
A
C
A
R
L
O
S
S
I
L
V
A
/
F
U
T
U
R
A
P
R
E
S
S
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
I
S
M
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 462
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
AVANOS SO RESULTADOS
DE PERDAS E LUTAS
(DA REDAO)
No incio dos anos 1970, quando a ditadura
militar imprimiu ritmo forte a um programa
desenvolvimentista com amplos impactos sociais
e ambientais no Brasil, especialmente na Ama-
znia, comearam a surgir sinais de resistncia.
Vrios movimentos sociais dispersos construram
processos de lutas para enfrentar modelos de de-
senvolvimento excludentes e predatrios. Desses
movimentos emergiram confitos e lideranas. Aos
poucos esses novos atores foram se consolidando
na cena poltica atravs de organizaes da so-
ciedade civil, as quais se articularam no bojo da
formulao da nova Constituio brasileira, pro-
mulgada em outubro de 1988. Do direito prtica,
muitas experincias-piloto localizadas passaram a
oferecer alternativas de desenvolvimento que bus-
cavam conciliar direitos sociais com conservao
e uso sustentvel de recursos naturais. Direitos
sociais geneticamente vinculados a questes
ambientais. Algumas dessas experincias serviram
de suporte para carreiras polticas promissoras e
passaram a inspirar polticas pblicas regionais
e at nacionais. Formou-se um campo poltico
original, compartilhado progressivamente por
atores que tm razes nos movimentos sociais
e ambientais, os quais utilizam cada vez mais
o socioambientalismo como uma expresso
de identidade e reconhecimento de um terreno
propcio para novas formas de olhar o Brasil e as
questes do desenvolvimento.
Alguns fatos que marcaram
esse processo foram:
1970 Surgem manifestaes de alerta por
parte de cientistas, polticos e outras lideranas
da sociedade civil sobre os impactos do Plano
Confgura-se uma dinmica bissetorial, entre agncias
ambientais estatais e algumas entidades ambientalistas,
baseada no confito e na cooperao. O primeiro decorre
da percepo, por parte das entidades, da pouca efcincia
dos controles de poluio exercidos pelas agncias. A
principal crtica a excessiva tolerncia com as indstrias
pela poluio provocada e a morosidade dos processos de
fscalizao. A cooperao se fortalece a partir das dinmicas
que articulam aproximaes restritas a um conjunto de
pequenos grupos da sociedade civil e de pessoas que, dentro
da estrutura federal e estadual, acreditavam na importncia
de proteger o meio ambiente.
Outras questes diretamente ligadas aos problemas
de agravamento da degradao ambiental, tais como
crescimento populacional e dfcit de saneamento, no
faziam parte da agenda dessas organizaes, contribuindo
para uma viso limitada da realidade.
Os grupos se concentram na sua maioria na regio
Sul-Sudeste e so compostos por ativistas que desenvolvem
atividades em comunidades alternativas rurais ou iniciam
aes de educao ambiental, trabalhos de proteo e re-
cuperao de ambientes degradados, proteo a ambientes
ameaados e denunciam os problemas de degradao do
meio ambiente apoiados fnanceiramente por um grupo
restrito de simpatizantes. A sua atuao est centrada,
nesse perodo de implantao e consolidao, na denncia
e na conscientizao pblica sobre a degradao ambiental,
principalmente com enfoque local e, em alguns casos, em
campanhas de abrangncia regional e mesmo nacional,
como o caso da campanha de denncia contra o desma-
tamento na Amaznia, em 1978, a luta contra a inundao
de Sete Quedas no Rio Paran (1979-1983), a luta contra
a construo de usinas nucleares (1977-1985), a luta pela
aprovao de leis do controle e de estmulo ao uso intensivo
de agrotxicos (1982-1985).
Muitas destas lutas obtiveram bastante repercusso
no exterior e foram referncia para a multiplicao de
presses contra o governo brasileiro durante os anos
finais do regime autoritrio, sendo que a maioria das
prticas era pautada pelo voluntarismo dos militantes
mais engajados. As suas foras so complementadas
pela volta de ativistas polticos ao Pas aps a anistia,
bastante influenciados pelos movimentos ambientalistas
u
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
I
S
M
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 463
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
da Europa e Estados Unidos, no que se refere adoo
de um sistema de valores que representa um questio-
namento dos impactos da civilizao urbano-industrial,
assim como da degradao ambiental provocada pelos
empreendimentos humanos.
Essas lutas representam marcos da ao ambientalista
no Brasil, na medida em que marcam o incio de questio-
namentos de polticas de governo atravs da comunidade
cientfca e de organizaes ambientalistas. O engajamento
da SBPC no movimento antinuclear e no movimento que
denuncia a degradao ambiental do municpio de Cubato,
na Baixada Santista, um fator que agrega legitimidade e
potencializa protestos e mobilizao da opinio pblica.
A multiplicao das
prticas socioambientais
No incio da dcada de 1980, a crise do modelo de de-
senvolvimento e a acelerao na opinio pblica da tomada
de conscincia sobre a devastao ambiental a extenso
das queimadas na Amaznia e no Cerrado e a eliminao
quase total da Mata Atlntica estimula a articulao de
lutas que agregam ONGs ambientalistas europias e norte-
americanas s brasileiras contra projetos que interferem no
meio ambiente.
As prticas dos movimentos se restringem, na maioria
dos casos, a pessoas vinculadas ao universo acadmico, aos
militantes de partidos, setores profssionais, ativistas sociais,
restritas basicamente a combater a poluio e a apoiar a
preservao de ecossistemas naturais, caracterizando
uma dinmica de distanciamento de diversas entidades
em relao ao tema da justia social. Parte signifcativa
das associaes ambientalistas, no tinham praticamente
nenhum dilogo ou repercusso na populao mais exclu-
da, levando muito pouco em considerao as dimenses
socioeconmicas da crise ambiental.
Cresce a percepo dentro do movimento ambientalista
de que o discurso ambiental no se encontrava efetivamente
disseminado na sociedade brasileira. Alm disso, a dcada
de 1980 caracterizada por iniciativas para aprimorar os
instrumentos legais de gesto ambiental, a escolha de par-
cela dos ambientalistas em enveredar pelo campo poltico
institucional e uma busca das ONGs ambientalistas em se
profssionalizar e se aproximar das ONGs sociais.
de Integrao Nacional, lanado pelo governo
militar em 1970, o qual inclua a construo de
grandes obras de infra-estrutura na Amaznia,
como estradas e hidreltricas.
1972 A primeira usina nuclear do Pas implan-
tada em Angra dos Reis (RJ), gerando protestos
contra esse tipo de gerao de energia. Apesar disso,
em 1975, veio Angra II e o projeto de se construir a
terceira continua na pauta dos vrios governos que
se sucederam (ver Energia Nuclear, pg. 351).
1973 a 1975 A expedio de atrao dos ndios
Panar, que viviam na regio cortada pela rodovia
Cuiab-Santarm, causa grande repercusso
na mdia nacional e internacional. Logo aps
o contato, abandonados, foram praticamente
exterminados e seus remanescentes transferidos
para o Parque do Xingu.
1974 Fechamento da fbrica de celulose
Borregaard, na Grande Porto Alegre (RS), aps
campanha com Jos Lutzemberger e ONGs como
a Agapan frente, marca a primeira vitria do
movimento ecolgico gacho.
1975 O estudante universitrio Carlos Dayrel pas-
sa horas em cima da rvore que seria cortada pela
prefeitura de Porto Alegre (RS) para a construo
de um viaduto. Os protestos dos ecologistas ganha-
ram ampla cobertura da imprensa, amordaada
pela censura militar.
1975 Comeam as obras de construo da
Usina Hidreltrica de Itaipu (PR), que gerou uma
infnidade de protestos quando a barragem alagou
os saltos das Sete Quedas, patrimnio natural da
regio.
1975 A Igreja Catlica cria a Comisso Pastoral
da Terra (CPT), em resposta grave situao dos
trabalhadores rurais e posseiros, sobretudo na
Amaznia.
1976 Jos Lutzemberger lana o Manifesto eco lgico
brasileiro: fm do futuro?, crtica severa aos problemas
ecolgicos causados pelas atividades agropecu-
rias (ver Jos Lutzemberger, pg. 417).
u
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
I
S
M
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 464
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
Ocorre uma crescente inovao na cultural ambien-
talista brasileira. As entidades transcendem a prtica da
denncia e tm como objetivo central a formulao de
alternativas viveis de conservao e/ou de restaurao
de ambientes danifcados. O socioambientalismo se torna
parte constitutiva de um universo cada vez mais amplo de
organizaes no-governamentais e movimentos sociais.
Entre os diversos atores, pode-se destacar a aproxima-
o com os seringueiros da Amaznia e o apoio das ONGs
criao das reservas extrativistas, internacionalmente
conhecidas depois do assassinato de Chico Mendes; a
interao das ONGs com o movimento indgena, como o
caso do ISA, acoplando luta tradicional dos ndios pela
proteo de suas terras, a preservao do meio ambiente;
a aproximao com setores do Movimento dos Sem Terra,
incluindo a varivel ambiental na luta pelo acesso terra
e, por fm, uma aproximao junto a diversas associaes
de bairro, que incluram a qualidade ambiental em suas
demandas.
A importncia da vertente socioambiental pode ser
verifcada pelo crescimento do nmero de entidades no-
governamentais e movimentos sociais que incorporam a
questo ambiental na sua agenda de atuao.
As ONGs procuram se reestruturar buscando uma maior
profssionalizao de suas atividades. As novas organizaes
se estruturam em torno de temas como a conservao de
algum ecossistema, melhoramento da qualidade ambiental
(gua, ar, resduos slidos), educao ambiental e ampliao
do acesso informao e agricultura sustentvel. Alm disso,
tratam de ampliar sua sustentabilidade fnanceira atravs
de mecanismos diversos de fnanciamento: organismos
internacionais, rgos pblicos, doaes de empresas e
mensalidades dos associados.
A mudana na forma de atuao do movimento ambien-
talista brasileiro complementada com a transformao de
seu discurso dominante nesta dcada. O agravamento da crise
econmica, a aproximao com outros movimentos sociais e o
relatrio Nosso Futuro Comum, publicado em 1982, contribu-
ram para que o tema desenvolvimento econmico, rejeitado
pelos ambientalistas brasileiros at incio d dcada de
1980, fosse incorporado no discurso ambiental.
O marco diferenciador a passagem de prticas que
podem ser defnidas apenas como reativas para prticas
u
1976 Os seringueiros do Acre, em resposta
especulao fundiria na Amaznia e conseqente
limpa da mata por queimadas, iniciam uma
forma de resistncia, chamada de empates, aes
coletivas que, pacifcamente, impediam a ao dos
pees encarregados da derrubada da mata.
1978 Criada a Comisso Pr-Yanomami (CCPY),
que continua ativa na defesa dos direitos territo-
riais, culturais e civis dos Yanomami.
1979 Primeira assemblia indgena do Brasil
e fundao da Unio das Naes Indgenas
(UNI), marcando a emergncia do movimento
indgena.
1979 Expulso de colonos da Terra Indgena de
Nonoai (RS) onde viviam cerca de 1.500 ndios
Kaigang , marco de confitos agrrios entre ndios
e sem-terra.
1984 Fundao do Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem-Terra (MST), em Cascavel (PR),
resultado da intensificao dos conflitos entre
trabalhadores sem-terra e fazendeiros a partir da
dcada de 1980.
1984 Em Cubato (SP), duas exploses e o
incndio causado por vazamento de gs causaram
a morte de 150 pessoas, em Vila Soc (ver Riscos
e Acidentes Ambientais, pg. 456).
1985 Aprovada a Lei da Ao Civil Pblica, ga-
rantindo poderes sociedade civil e ao Ministrio
Pblico para atuar em defesa do meio ambiente
e do patrimnio histrico.
1985 O Banco Mundial pela primeira vez
suspende um emprstimo para fnanciar a pavi-
mentao da BR-364 (Cuiab-Porto Velho) pelo
no cumprimento das condies ambientais e
sociais, sob presso da campanha internacional
de organizaes da sociedade civil.
1986 Criada a Estao Ecolgica de Juria-Itatins,
no litoral sul de So Paulo, aps um longo processo
de mobilizao da opinio pblica em favor de sua
preservao.
1986 O Partido Verde criado e rene 100 mil
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
I
S
M
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 465
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
pessoas em um abrao ecolgico Lagoa Rodrigo
de Freitas, no Rio de Janeiro.
1987 Chico Mendes vai a Miami e Washington
na reunio anual do Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID) para discutir os emprstimos
para o trecho Porto Velho-Rio Branco da BR-364.
1988 A partir da constatao de que a explora-
o e a colonizao da Amaznia nos anos 1970,
chamada a dcada da destruio, havia provoca-
do brutal devastao ambiental, desencadeia-se
uma polmica internacional para discutir qual o
papel da regio no equilbrio socioambiental do
planeta (ver Amaznia, pg. 83 e Desmata-
mento, pg. 276).
1988 Promulgada a nova Constituio, marcada
pela mobilizao de diferentes grupos. Ambien-
talistas, movimentos populares e pelos direitos
humanos, povos indgenas e aliados garantiram
uma srie de direitos coletivos e especiais, que
confguraram a base para o socioambientalismo
e o direito socioambiental como os entendemos
hoje (ver Direito Socioambiental, pg. 236,
e Legislao Brasileira, pg. 481).
1988 Chico Mendes assassinado no Acre. Desde
a dcada de 1960, liderava a luta pela autonomia
dos seringueiros e a proteo da foresta amaz-
nica (ver Chico Mendes, pg. 86).
1988 O massacre dos ndios Ticuna, no Igarap
da Boca do Capacete (AM), gerou protestos dentro
e fora do Brasil e direcionou a ateno para a
necessidade de demarcao das terras indgenas
no Alto Solimes.
1989 Firmada a Aliana dos Povos da Floresta,
que reuniu trabalhadores extrativistas e povos
indgenas para defesa conjunta da reforma agrria
e das terras indgenas, a partir da participao
conjunta de ndios e seringueiros nas assemblias
do Conselho Nacional dos Seringueiros, sediado no
Acre, e da UNI.
1989 I Encontro dos Povos do Xingu, em Altamira
(PA), reuniu 650 pessoas, 250 ndios entre elas,
u
proativas, na medida em que, em escala crescente, as
organizaes tm como objetivo central a afrmao de
uma alternativa vivel de conservao ou de restaurao do
ambiente danifcado. As entidades se capacitam cada vez
mais para exercer uma ntida infuncia sobre as agncias
estatais de meio ambiente, o poder legislativo, a comuni-
dade cientfca e o empresariado.
importante destacar tambm o surgimento e fortale-
cimento de numerosos conselhos, consultivos e deliberati-
vos, em vrias reas e em todos os nveis (federal, estadual
e municipal) com a participao ativa de representantes de
ONGs e movimentos sociais.
As novas idias do ambientalismo brasileiro vo se
fortalecer durante a preparao da Rio-92, inserindo cada
vez mais o movimento ambiental nacional numa rede
internacional, ao mesmo tempo que possibilita a maior
interao das entidades ambientalistas aps 1990, a partir
da constituio do Frum Brasileiro de ONGs e Movimentos
Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. Estas
levam sua refexo e prtica em direo ao desenvolvimento
sustentvel. Muda o contedo, diminuindo signifcativa-
mente o discurso que falava em proteo ambiental de
forma isolada, substitudo por um que advoga a necessidade
de pensar as relaes entre o desenvolvimento econmico
e a proteo ambiental, como eixos de convergncia da
relao entre sociedade e Estado.
Coalizes e redes
O grande ponto de infexo do movimento ambienta-
lista ocorre com a constituio de fruns, coalizes e redes
que tm importncia estratgica para ativar, expandir e
consolidar o carter multissetorial do ambientalismo, nota-
damente atravs da reunio dos setores que representam as
associaes ambientalistas e os movimentos sociais. Trata-
se de um processo bastante complexo, em virtude da sua
heterogeneidade tanto organizativa como ideolgica.
No processo preparatrio da Rio-92, por iniciativa
de algumas ONGs, criado o Frum de ONGs Brasileiras
preparatrio Conferncia da Sociedade Civil sobre o
Meio Ambiente e Desenvolvimento, simultaneamente
Conferncia das Naes Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento. A realizao do Frum Global contribui
signifcativamente para integrar o ambientalismo brasileiro
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
I
S
M
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 466
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
para mostrar seu descontentamento com a poltica
de construo de hidreltricas no Rio Xingu. A
Eletronorte tem planos de construir um complexo
de cinco hidreltricas no Xingu.
1989 Realizado o Primeiro Encontro Nacional de
Trabalhadores Atingidos por Barragens, resultado
de protestos e movimentos populares surgidos du-
rante a construo das hidreltricas de Sobradinho
(Rio So Francisco, dcada de 1970), Itaipu (Paran,
1978) e Tucuru (Amaznia, incio dos anos 80) (ver
Barragens, pg. 311 e Eletricidade, pg. 346).
1989 Surge a Ao pela Cidadania como forma de
defesa dos direitos inerentes cidadania. Os dois
principais focos desse grupo foram a impunidade de
assassinos de seringueiros e trabalhadores rurais do
Acre e a situao de ameaa de extino cultural em
que se encontravam os ndios Yanomami (RR).
1990 Criadas as primeiras reservas extrativistas
Chico Mendes e Alto Juru, ambas no Acre (ver
reas Protegidas, pg. 267).
1990 Criao do Conselho Nacional do Meio
Am bien te (Conama) (ver Poltica Ambiental, pg.
448).
1991 Criao do Ncleo Unio Pr-Tiet, para desen-
volver projetos e apoiar iniciativas para a recuperao
do rio (ver Os Mananciais de So Paulo, pg. 308).
1990 Demarcao da Terra Indgena Yanomami,
homologada em 1992. Foram anos de lutas lide-
radas pelo ndio Davi Yanomami (ver Yanomami,
o Esprito da Floresta, pg. 228).
1992 Durante a Rio-92, diversos temas do direito
ambiental e a noo de desenvolvimento susten-
tvel foram debatidos e considerados prioridade
internacional. Durante o encontro, foi elaborada a
Agenda 21 e tambm criado o Frum Brasileiro de
ONGs e Movimentos Sociais para Meio Ambiente
e Desenvolvimento (ver Conferncias Internacio-
nais, pg. 496).
1993 As relaes entre os garimpeiros brasileiros
do Rio Taboca (alto Orinoco, na Venezuela) e os
Yanomami de Haximu tornaram-se muito tensas,
u
num processo de articulao e networking internacional,
exercendo o papel de mobilizador e articulador entre ONGs
e movimentos sociais para o aprofundamento da discusso
sobre os desafos da sustentabilidade.
As ONGs ambientalistas tm exercido um papel indutivo
em diversas iniciativas de formulao e elaborao de Agen-
das 21 locais com efetiva participao das comunidades
locais, alm de incorporar uma multiplicidade de atores,
como o caso das experincias de participao na gesto de
preservao da biodiversidade e de denncia ou presso social
atravs de jornais, sites na Internet e boletins informativos.
A partir de 1992, algumas redes e coalizes se estru-
turam com o objetivo de enfrentar tanto em nvel nacional
como regional, conforme os objetivos e questes em pauta,
temas crticos que demandam organizao, articulao e
mobilizao.
Estas se concretizam sob a forma de consultas atravs
de conferncias internacionais, articulaes que se estrutu-
ram para realizar aes coletivas para questionar programas
ou projetos para uma regio ou cidade. Este caso dos
Fruns de ONGs e Movimentos Sociais, do Grupo de Trabalho
Amaznico, que se multiplica pelo interior da Amaznia, da
Rede Mata Atlntica, da Coalizo Rios Vivos. Outras redes se
organizam para enfrentar determinada poltica pblica ou
sua ausncia em torno de guas, biodiversidade, agricultura
sustentvel, educao ambiental.
As questes que o ambientalismo coloca esto hoje
muito associadas s necessidades de constituio de uma
cidadania para os desiguais, nfase dos direitos sociais, ao
impacto da degradao das condies de vida decorrentes
da degradao socioambiental, notadamente nos grandes
centros urbanos, e necessidade de ampliar a assimilao
pela sociedade de prticas centradas na sustentabilidade e
na politizao dos riscos.
A partir de 2001, se estrutura no Brasil, partilhando da
convico de que as injustias sociais e a degradao ambien-
tal tm razes comuns, a Rede Brasileira de Justia Ambiental,
na qual participam representantes de movimentos sociais,
sindicatos, ONGs, entidades ambientalistas, organizaes
indgenas e de afrodescendentes e pesquisadores universi-
trios. Seu foco de atuao se centra no questionamento e
mobilizao em torno dos impactos que a concentrao de
poder provoca nos setores sociais mais afetados pela exclu-
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
I
S
M
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 467
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
culminando no massacre de Haximu, quando 16
Yanomami foram mortos por garimpeiros (ver
Minerao em reas Protegidas, pg. 354).
1995 Durante uma ordem de despejo numa fazenda
ocupada por 500 famlias, em Rondnia, policiais mili-
tares executaram 10 trabalhadores rurais. O massacre
de Corumbiara, como fcou conhecido, recebeu muitos
protestos, inclusive de entidades internacionais.
1996 Em oposio s invases do MST, seguem-
se aes de reintegrao de posse, como a que
culminou na chacina de Eldorado dos Carajs (PA).
Foram assassinados 19 trabalhadores rurais, quan-
do policiais militares abriram fogo contra 1.500
sem-terra em manifestao na rodovia PA-150.
(ver Reforma Agrria, pg. 329).
1996 Depois de 20 anos exilados no Parque do Xingu,
a justia declara a posse permanente, pelos Panar, de
suas antigas terras. Alm dessa vitria, alcanaram um
feito indito na histria dos povos indgenas, quando,
em 2000, ganharam nos tribunais, contra a Unio e a
Funai, uma ao indenizatria pelos danos materiais
e morais causados pelo contato.
1997 Afrmando o direito terra aos remanescen-
tes de quilombos, foi criada a 1
a.
terra de quilombos
como Reserva Extrativista.
1999 Toma posse, como governador do Acre,
Jorge Viana, ambientalista que conviveu com Chico
Mendes e criou o conceito da florestania, unio
dos termos foresta e cidadania, cuja idia obter
um desenvolvimento que parta do conhecimento
tradicional das populaes locais, associando-o com
o que h de mais moderno em tecnologia.
2000 A campanha virtual denominada SOS
Florestas pela manuteno do Cdigo Florestal
consegue a adeso de dez mil pessoas (ver Poltica
Florestal, pg. 274).
2000 a 2001 A populao brasileira com muito
pouca orientao vinda das autoridades produziu
a maior, mais rpida e mais signifcativa economia
de energia do Pas, durante o conhecido apago
(ver Conservao de Energia, pg. 347).
u
so social e territorial. O conjunto de casos da decorrentes
refete situaes de injustia ambiental, na medida em que
os desiguais so os mais afetados pelos danos ambientais.
Por justia ambiental se designa um conjunto de princpios
e prticas que integra as dimenses ambiental, social e tica
da sustentabilidade e do desenvolvimento, freqentemente
dissociados nos discursos e nas prticas.
O salto qualitativo do socioambientalismo ocorre na
medida em que se cria uma identidade crescente entre o sig-
nifcado e dimenses das prticas, com forte nfase na relao
entre degradao ambiental e desigualdade social, reforando
a necessidade de alianas e interlocues coletivas, onde
o poder relacional exercido atravs de redes, articulando
dinmicas locais com iniciativas civis transnacionais.
O impacto da ao das redes se refete principalmente
por possibilitar uma percepo pblica dos riscos, implican-
do em presso junto aos governos nacionais e instituies
regionais para modifcar propostas que afetam a susten-
tabilidade e dando centralidade aos impactos. As preocu-
paes ambientais expressas pelo ativismo das redes tm
provocado algumas mudanas, na medida em que tanto os
governos quanto as agncias de fnanciamento multilateral
introduzem crescentemente a problemtica dos impactos
socioambientais em suas agendas. A publicizao dos riscos
aumenta o grau de legitimidade e credibilidade das ONGS
que buscam de forma crescente suporte tcnico-cientfco
para sustentar seus argumentos e demonstrar os riscos
envolvidos com a implantao de hidrovias, por exemplo.
As coalizes na sociedade civil esto se fortalecendo,
explicitando escolha de temas e questes a serem enfrenta-
dos em nome da busca de objetivos comuns, confgurando
a infexo de uma dinmica reativa para uma dinmica
propositiva, que aproxima as ONGs e movimentos da mdia
e que centra sua atuao na coleta, sistematizao e disse-
minao de informaes.
As redes assumem em alguns casos um novo perfl,
fortalecendo-se como atores polticos transnacionais,
globalizando-se a percepo dos riscos, onde as ONGs
transnacionais exercem papel fundamental na disseminao
e amplifcao das informaes e imagens em escala global,
fortalecendo a necessidade dos riscos serem percebidos
como globais, alertando sobre o seu alcance e a necessidade
de impedir que aconteam.
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
L
I
S
M
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 468
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
SAIBA MAIS Pdua, Jos Augusto et.al. Justia
Ambiental e Cidadania. Rio de Janeiro; Relume
Dumara, 2004.
2001 Aprovado o Estatuto da Cidade, que traz
uma srie de instrumentos para o cumprimento da
funo social das cidades e amplia o conhecimento
e o poder de interveno sobre suas regras e fun-
cionamento (ver Ubanizao, pg. 380).
2003 A senadora Marina Silva, ex-seringueira e
companheira de Chico Mendes nas lutas que trava-
ram no Acre pela preservao da foresta, assumiu
o MMA, defendendo o conceito de transversalidade,
que deveria nortear as aes do governo quanto
poltica ambiental (ver Marina Silva, pg. 450).
2003 Movimento BR-163 Sustentvel obriga o
governo federal a rever sua estratgia de orde na-
mento territorial em funo dos impactos socioam-
bientais previstos com o asfaltamento da rodovia
Cuiab-Santarm.
2005 A religiosa norte-americana Dorothy Stang,
de 73 anos, assassinada a tiros em 12 de fevereiro,
no municpio de Anapu, a 140 km de Altamira, re-
gio do Xingu (PA). A missionria, que vivia no Brasil
desde a dcada de 1960 e havia sido naturalizada
brasileira h pouco mais de trs meses, vinha sofren-
do constantes ameaas de morte pelo seu trabalho,
de reconhecimento internacional, pelo direito terra
e em favor das centenas de famlias que vivem em
situao de misria naquela regio.
2005 O bispo de Barra (Bahia), Dom Lus Flvio
Cappio, realiza uma greve de fome de 11 dias em
protesto contra o projeto de Transposio do Rio
So Francisco (ver pg. 124).
2005 Francisco Anselmo Gomes de Barros,
presidente da Fundao para Conservao da
Natureza de Mato Grosso do Sul, ateia fogo s
roupas em Campo Grande, no dia 12 de novembro,
em protesto contra instalao de usinas de acar
e lcool nas imediaes do Pantanal. Morreu no dia
seguinte, em razo das graves queimaduras.
2006 Em fevereiro, aps 14 anos de debates, foi
aprovada fnalmente uma lei para regulamentar o
uso e a preservao da Mata Atlntica, substituin-
do o juridicamente frgil Decreto 750/93.
As redes se fortalecem pela sua capacidade de instru-
mentalizar os alcances das novas tecnologias de informao
e a sua infuncia nos processos decisrios. A mobilizao da
mdia internacional pela ao de algumas ONGs ambienta-
listas de amplo poder amplifcador mostram para pblicos
abrangentes a conjugao de uma viso anti-ecolgica, a in-
sensibilidade social e posturas freqentemente autoritrias
e no transparentes de governos na conduo de projetos
que provocam impactos socioambientais inquestionveis.
Alm disso, mostram o potencial existente para uma cres-
cente ativao de entidades da sociedade civil na esfera
pblica como atores pluralistas e multiculturais questiona-
dores, que exercem presso, criam conscincia ambiental,
mas tambm so propositivos visando reduzir os riscos de
degradao das condies socioambientais tanto em nvel
de atuao local como regional e transnacional.
Desafos
O socioambientalismo do sculo XXI tem uma com-
plexa agenda pela frente. De um lado, o desafo de ter
uma participao cada vez mais ativa na governabilidade
dos problemas socioambientais e na busca de respostas
articuladas e sustentadas em arranjos institucionais inova-
dores que possibilitem uma ambientalizao dos processos
sociais, dando sentido formulao e implementao de
uma Agenda 21 no nvel nacional e subnacional. De outro,
a necessidade de ampliar o escopo de sua atuao, atravs
de redes, consrcios institucionais, parcerias estratgicas
e outras engenharias institucionais que ampliem seu
reconhecimento na sociedade e estimulem o engajamento
de novos atores.
Se de um lado o contexto no qual se confguram as
questes ambientais marcado pelo confito de interesses
e uma polarizao entre vises de mundo, as respostas
precisam conter cada vez mais um componente de coope-
rao e de defnio de uma agenda que acelere prioridades
para a sustentabilidade como um novo paradigma de
desenvolvimento.
T
U
R
I
S
M
O
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 469
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
TURISMO SUSTENTVEL
MRIO CSAR MANTOVANI* E PAULA ARANTES**
O turismo vem crescendo no Pas e gerando empregos e renda,
mas sua sustentabilidade ainda no est assegurada
A diversidade de povos, culturas, paisagens e uma
das maiores faixas litorneas do mundo tornam o Brasil
atraente para o turismo, atividade que vem crescendo nos
ltimos anos. Segundo dados da Organizao Mundial do
Turismo (OMT) e do Ministrio do Turismo, o nmero de
chegadas internacionais no Brasil praticamente dobrou
de 1996 a 2006, passando de 2,7 para 5,1 milhes de
desembarques de turistas estrangeiros. O mercado
nacional tambm expandiu em mais de 18% entre 1998
e 2002, segundo estudos da Embratur. Essa atividade,
porm, por falta de planejamento adequado, tem deixado
rastros de degradao socioambiental: muitas vezes os
benefcios econmicos no chegam s populaes locais
e a qualidade do meio ambiente de diversos destinos j
est comprometida.
A riqueza do patrimnio ambiental brasileiro fez crescer
um segmento do turismo, o ecoturismo associado s
atividades em ambientes naturais nas quais o visitante se
Chapada Diamantina (BA), 2004.
B
E
T
O
R
I
C
A
R
D
O
/
I
S
A
integra harmoniosamente com o meio, em uma relao
sustentvel. Trata-se de uma atividade promissora para
os pases ricos em biodiversidade, pois alm de ser al-
ternativa de gerao de renda, empregos e servios, pode
promover a conservao e a formao de uma conscincia
socioambiental. Com o crescimento, veio o oportunismo
do mercado e o termo ecoturismo vem sendo banalizado.
Muitas vezes est relacionado a qualquer tipo de turismo
e infra-estrutura na natureza, sejam sustentveis ou no.
Muitas agncias, hotis e prestadores de servios o utilizam
apenas como estratgia de marketing, sem atender aos
princpios bsicos que norteiam a atividade. Resultado: ao
invs de uma boa opo para o desenvolvimento susten-
tvel de regies com remanescentes forestais de grande
importncia para a biodiversidade brasileira, como o caso
*Gegrafo, diretor da Fundao SOS Mata Atlntica
**Formada em hotelaria e especialista em ecoturismo,
consultora autnoma * paulaarantes@hotmail.com
T
U
R
I
S
M
O
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 470
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
PESCA ESPORTIVA
ALEC ZEINAD*
A pesca esportiva tem se disseminado cada vez mais.
O princpio dessa prtica se diferencia da pesca amadora por
incorporar conceitos modernos com relao postura entre
o pescador e o meio ambiente. O praticante se preocupa em
desfrutar de momentos relaxantes e de ntimo contato com
a natureza enquanto tenta, por meio de diversas tcnicas
e equipamentos de ltima gerao, disputar a captura de
espcies de peixes de interesse. Em respeito e cuidado aos
ecossistemas que freqenta, o pescador esportivo tenta
deix-los da maneira mais intacta possvel. E isso tambm
vale para os peixes. Como o objetivo dessa modalidade
disputar com esses animais seus conhecimentos e tcnicas,
alm de proporcionar momentos de ntimo contato com a
natureza, a grande maioria dos peixes capturados no so
abatidos. Diferente da pesca amadora, na qual o pescador
procura atingir a cota de captura permitida.
A prtica do pesque-e-solte, ainda emergente no
Brasil e praticada somente por cerca de 20% dos pescadores
licenciados, foi adotada como uma alternativa para que a
pesca recreativa causasse menos impacto. Nessa modali-
dade, a maioria dos peixes capturados devolvida para a
gua. Prtica questionvel com relao sobrevivncia
dos peixes, objeto de diversos estudos no Canad e EUA,
pases com grande tradio de pesca esportiva e onde se
comprovou diversas vezes que cerca de 5% a 10% dos
peixes pescados e soltos morrem aps os embates. Estudos
realizados no Brasil com nossas espcies de peixes apontam
para ndices de mortalidade semelhantes. Esse ndice de
mortandade, no entanto, representa um ganho ambiental
muito grande, j que antes os peixes eram capturados e
mortos indiscriminadamente, causando grandes perdas
para os estoques explorados pela pesca no comercial.
A pesca esportiva pode se tornar interessante para
reas naturais com potencial pesqueiro que desejam
desenvolver algum tipo de atividade econmica, sem
comprometer seus recursos naturais. Por meio da atividade
ordenada e controlada, esse modelo est sendo implanta-
do com sucesso em diferentes regies brasileiras. A Ama- *Ictilogo e consultor do PNDPA/Ibama
znia, por ter a maior variedade de peixes do mundo
(com mais de 1,7 mil espcies conhecidas, entre as
esportivas esto o tucunar, o pirarucu e a pirarara), e
o Pantanal (com mais de 300 espcies conhecidas, com
destaque para o dourado, pintado e ja) so os destinos
mais procurados para a pesca esportiva no Pas.
A atividade atualmente controlada e regulamentada
pelo Ibama, especialmente atravs do Programa Nacional
de Desenvolvimento da Pesca Amadora (PNDPA). De acordo
com as leis, os pescadores esportivos precisam da licena
federal de pesca e, em alguns estados, a licena de pesca
estadual, devendo obedecer limites para a captura do
pescado, bem como observar as pocas de defeso (onde
elas existem), o tamanho mnimo permitido para que uma
espcie seja abatida e tambm das espcies ameaadas ou
com ocorrncia rara. Alm disso, o PNDPA realiza cursos
de treinamento de guias de pesca e ofcinas infantis em
parceria com a iniciativa privada e o poder pblico em
regies do Brasil com potencial para o desenvolvimento
dessa atividade. Busca qualifcar e capacitar mo-de-obra
local e sensibilizar as populaes para essa prtica, que tem
potencial para, se bem conduzida, ajudar na preservao
de ecossistemas aquticos e gerar emprego e renda em
comunidades afastadas e em regies ainda preservadas.
Algumas espcies de peixes, como o tucunar-au na re-
gio do Rio Negro, servem como espcies "guarda-chuvas",
gerando a proteo de reas destinadas captura destes
peixes atravs da prtica da pesca esportiva. A explorao
racional de alguns tipos de peixes permite a conservao de
reas e espcies da fauna e fora associadas aos ambientes
aquticos onde ocorrem.
SAIBA MAIS Programa Nacional de Desenvolvi-
mento da Pesca Amadora (www.ibama.gov.br/pesca
amadora).
VEJA TAMBM Fauna (pg. 246); Pesca (pg. 319).
T
U
R
I
S
M
O
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 471
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
OS 7 PRINCPIOS DO
TURISMO SUSTENTVEL
Alguns critrios bsicos norteiam as ativida-
des do turismo sustentvel e sua relao com
o sistema socioambiental envolvido:
1) Respeitar a legislao vigente;
2) Garantir os direitos das populaes locais;
3) Conservar o ambiente natural e sua
biodiversidade;
4) Considerar o patrimnio cultural e
valores locais;
5) Estimular o desenvolvimento social e
econmico dos destinos tursticos;
6) Garantir a qualidade dos produtos,
processos e atitudes;
7) Estabelecer o planejamento e a gesto
responsveis da atividade.
da Mata Atlntica, a atividade tambm se confgura como
uma ameaa ao meio ambiente.
Temos ainda poucos exemplos de iniciativas que se
contrapem a esse cenrio inconseqente. Projetos como
o Plo Ecoturstico do Lagamar, no Vale do Ribeira (sudeste
do Estado de So Paulo) e destinos como Vale do Matutu
(sul de Minas Gerais) e Mara (sul da Bahia) so algumas
referncias. Eles vm sendo desenvolvidos de forma plane-
jada, sensibilizando as comunidades locais e os visitantes
para a importncia da conservao dos recursos naturais e
culturais, otimizando os benefcios da atividade turstica.
NO CONFUNDA...
M
Turismo sustentvel Toda a prtica de
turismo que promove o uso sustentvel dos
patrimnios ambiental e cultural. Alm disso,
conserva o ambiente visitado para que as gera-
es futuras tambm possam usufruir dele, com
os mesmos (ou at mais) benefcios. Contempla
aspectos ambientais, sociais e econmicos.
Segundo o Acordo de Mohonk, Turismo Sus-
tentvel aquele que visa minimizar impactos
ecolgicos e scio-culturais, enquanto promove
benefcios econmicos para as comunidades
locais e pases receptores.
M
Ecoturismo O verdadeiro ecoturismo no
apenas praticar atividades ou estar localizado
em ambiente natural (como montanhas, fo-
restas, rios, cachoeiras), tambm a maneira
como os viajantes interagem com o local, de
forma a gerar benefcios para seus moradores,
incentivar a preservao e o desenvolvimento
de uma conscincia socioambiental. Na defnio
brasileira, trata-se por ecoturismo: "Segmento da
atividade turstica que utiliza, de forma sustent-
vel, o patrimnio natural e cultural, incentiva sua
conservao e busca a formao de uma cons-
cincia ambientalista atravs da interpretao
do ambiente, promovendo o bem-estar das
populaes envolvidas."
Ao mesmo tempo, a preocupao com a qualidade,
a responsabilidade socioambiental e a presena de selos
de certifcao tm sido cada vez mais questionadas pelo
consumidor em geral e claro, tambm pelo turista!
Como fazer com que os produtos tursticos brasileiros se
destaquem no mercado internacional evidenciando seu
compromisso com as boas prticas para a sustentabilidade
no turismo? Como divulgar o Brasil como um destino de
qualidade, confvel?
A forma mais efcaz discutida atualmente a de ter
o produto turstico certifcado, com um selo verde reco-
nhecido. Existe, porm, uma quantidade enorme de selos
de certifcao nessa rea e como garantir credibilidade?
Desde 2000, entidades ambientalistas brasileiras se so-
maram aos esforos de organizaes internacionais com
o objetivo de criar um selo de certifcao internacional
nico, voluntrio e independente. Em 2002, no evento
do Ano Internacional do Ecoturismo em Quebec, Canad,
esse foi um tema muito discutido e, em 2007, em Oslo,
na Conferncia Global de Ecoturismo (Quebec + 5), esteve
novamente em pauta como um dos melhores caminhos na
busca da sustentabilidade no turismo.
T
U
R
I
S
M
O
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 472
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
VOC SABIA?
M
No Brasil, cerca de 90% do turismo ocorre em
reas de domnio da Mata Atlntica.
M
O turismo no Brasil continuar crescendo
a um ritmo mdio de 5,2% ao ano e atrair 14
milhes de turistas estrangeiros em 2020, na
previso da OMT.
M
Desde 2004, a Conveno sobre a Diversida-
de Biolgica, sediada em Montreal, e da qual o
Brasil signatrio, considera o turismo como
uma atividade potencialmente benfca para
a biodiversidade e gerou diretrizes para um
turismo favorvel a conservao e uso susten-
tvel. Em novembro de 2006, o Secretariado da
Conveno e o Frum Mundial de Turismo, Paz
e Desenvolvimento Sustentvel lanaram uma
plataforma para dar apoio aos profssionais que
queiram praticar o turismo sustentvel. Publica-
es, manuais, estudos de caso e um teste de
sustentabilidade podem ser encontrados no
site http://tourism.cbd.int.
NORMA PARA MEIOS
DE HOSPEDAGEM
Requisitos para a Sustentabilidade
NBR 15401:2006
Essa norma estabelece requisitos para meios
de hospedagem que lhes possibilitem planejar
e operar as suas atividades de acordo com os
princpios estabelecidos para o turismo susten-
tvel, tendo sido redigida de forma a aplicar-se
a todos os tipos e portes de organizaes e para
adequar-se a diferentes condies geogrfcas,
culturais e sociais, mas com ateno particular
realidade e aplicabilidade s pequenas e
mdias empresas.
SAIBA MAIS Norma brasileira reconhecida
pela Associao Brasileira de Normas Tcnicas
(ABNT) (http://www.pcts.org.br/pubpcts/me-
dia/Norma_NIH-54.pdf ); Programa de Certi-
fcao do Turismo Sustentvel (PCTS) (www.
pcts.org.br).
Turismo nas comunidades Uro, que vivem em ilhas futuantes no Lago Titicaca, Puno, Peru.
B
E
T
O
R
I
C
A
R
D
O
/
2
0
0
7
T
U
R
I
S
M
O
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 473
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
COMO POSSO AJUDAR?
Guia do Turista Responsvel
1) Esteja aberto a culturas diferentes, vivenciando e respeitando as tradies e prticas sociais locais.
2) Respeite os direitos humanos. Qualquer forma de explorao vai contra os princpios bsicos do turismo.
3) Ajude a conservar o meio ambiente. Proteja a fora e a fauna e no compre produtos feitos a partir de plantas
e animais selvagens.
4) Respeite o patrimnio artstico, arqueolgico e cultural do local que visita.
5) Contribua para o desenvolvimento local, comprando o artesanato e outros produtos locais.
6) Antes de viajar, informe-se sobre as condies sanitrias, atendimento a turistas e a emergncias do seu destino.
7) Dedique-se a saber o mximo possvel sobre os costumes, normas e tradies, e evite comportamentos que
possam ofender as populaes do destino.
8) Informe-se sobre a legislao local para no cometer atos ilegais. No trafque drogas, armas, antiguidades
ou espcies protegidas.
Outras dicas:
M
Planeje sua viagem! Pesquise, se informe sobre o destino e servios que vai contratar.
M
Ao procurar um pacote turstico, hospedagem ou um destino de ecoturismo, verifque se os princpios
bsicos esto sendo cumpridos, se a empresa turstica contratada conta com guias, monitores, servios
e produtos locais, se demonstra respeitar os regulamentos e preservar os ambientes das reas visitadas
e se apiam alguma entidade ambiental local.
M
Sempre d preferncia a produtos certifcados, orgnicos, artesanais.
M
Participe e/ou incentive programas de coleta seletiva de resduos.
M
Viaje em grupos pequenos.
M
Evite viajar para locais mais populares em feriados e frias.
M
Evite os guetos tursticos, valorize, prefra o contato com a populao local.
M
Pratique atividades menos prejudiciais ao meio ambiente: passeios a p, a cavalo, de bicicleta, caiaques...
Se vai de carro:
M
Seu carro est regulado?
M
D preferncia a veculos lcool ou gs natural.
M
No destino, d preferncia ao transporte pblico local.
No restaurante:
M
Prefra os pratos tpicos da regio. A gastronomia tambm patrimnio cultural.
(fonte: Organizao Mundial de Turismo)
SAIBA MAIS tica e prtica de mnimo impacto para ecoturismo e aventura (www.pegaleve.com.br);
Conduta Consciente em Ambientes Naturais (www.mma.gov.br/port/sbf/dap/comopart.html); Portal do
Turismo Responsvel (www.turismoresponsavel.tur.br); Certifcao de qualidade e segurana para o turis-
mo de aventura (www.abeta.com.br).
VEJA TAMBM reas protegidas (pg. 261); Bens Culturais (pg. 270).
T
U
R
I
S
M
O
S
U
S
T
E
N
T
V
E
L
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 474
MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
O Brasil sempre se manteve atualizado nesse tema.
Por trs anos consecutivos, sediou o Frum Mundial de
Turismo para a Paz e Desenvolvimento Sustentvel, com a
apresentao de diversos estudos de
caso. Anualmente, o tema tambm
tem espao garantido para discusso
e divulgao dos avanos no cenrio
nacional e internacional no Frum
Interamericano de Turismo Sustentvel (FITS), que acontece
em So Paulo, em agosto, na Adventure Sports Fair.
Estamos em um decisivo momento para potencializar
o desenvolvimento do mercado turstico da forma correta:
contamos com uma norma brasileira para meios de hospe-
dagem Requisitos para a Sustentabilidade desenvolvida
de forma participativa pelo Programa de Certificao
do Turismo Sustentvel (PCTS). Hoje no Pas, mais de
400 empreendimentos hoteleiros esto adequando seu
sistema de gesto e incorporando na prtica os princpios
de sustentabilidade que contem-
plam as esferas ambiental, social e
econmica. Em breve, contaremos
com os primeiros empreendimentos
nacionais certifcados.
A grande mudana certamente se dar quando os
consumidores, nesse caso, os turistas nacionais e interna-
cionais, comearem a dar preferncia e a exigir produtos
(roteiros, empreendimentos) e/ou prestadores de servios
que demonstrem a preocupao com boas prticas. Sim,
todos ns podemos fazer a nossa parte como consumidores
responsveis, nossas escolhas faro a diferena!
ECOTURISMO EM TERRAS INDGENAS
Marina Kahn*
Entra ano e sai ano, o turismo em terras indgenas segue sendo um programa de... papel. A alternativa mais
sensata de viagem, para quem quer se aventurar, uma navegada pela Internet. O interessado vai saber que existe
um programa ofcial, o Proecotur, criado em 1996 no Ministrio do Meio Ambiente para oferecer rotas conceituais
que o turista bem intencionado procura: (i) participao da comunidade indgena na gesto das atividades em suas
terras; (ii) iniciativa complementar s atividades tradicionais e a outros projetos da comunidade; (iii) gerao de
renda para melhorar a qualidade de vida da comunidade indgena; (iv) uso sustentvel dos recursos naturais deve
ser uma prioridade; (v) tradio cultural e indgena e seus valores prevalecendo sobre os interesses comerciais do
ecoturismo. Para os ndios, por sua vez, o pacote vendido como panacia.
No h etnia que no tenha ouvido ser esta uma alternativa vivel. Enquanto o programa de papel, o que se
observa ao longo desses anos so tentativas isoladas que respondem a um gesto pragmtico de uma comunidade
que, por conta prpria, d o seu jeito. O que merece destaque, atualmente, a iniciativa da comunidade Patax da
Jaqueira, no sul da Bahia. Idealizado e coordenado por Maria das Neves (Nytinaw) Patax, mantm um site que
orienta o turista com dados sobre o acesso, opes de alojamento e os pressupostos do projeto (http://www.rabarsa.
com/pataxo/inicial.html). Essa iniciativa, e outras que no conseguiram ainda se concretizar, tem recebido assessoria
de Roberto Mouro, da Associao Brasileira de Ecoturismo (Ecobrasil), um dos formuladores do Proecotur.
Os programas de governo possvel contabilizar-se 11, somando-se os de mbito federal e estadual, todos
eles formulados no fnal do sculo XX - no demonstraram, depois de assegurada a tranqila passagem do milnio,
qualquer gesto que barre o nico roteiro que se mantm presente: o do empresrio a montar parques temticos
em torno de eventos ligados ao 19 de abril, dia ofcial do ndio, quando os interessados tornam-se personagens
caricatos de si prprios e o turista ocasional passa a acreditar que essa a verdade que sobrou do ndio no Brasil.
*Antroploga e scia fundadora do ISA
SAIBA MAIS Tu rismo no Brasil
(www.turismo.gov.br).
ZOOM
A Constituio de 1988 foi o grande marco jurdico socioam-
biental brasileiro, ao garantir a toda sociedade o direito fun-
damental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ela
representa, pelo menos formalmente, uma legislao muito
avanada no reconhecimento de direitos coletivos sobre os
bens ambientais. Este captulo do Almanaque conta a histria
dessa grande conquista, mas tambm as difculdades para sua
aplicao causadas pela pouca conscincia socioambiental da
sociedade e pela inefcincia do Estado em fscalizar, evitar e
punir atividades que desrespeitem esses direitos, embora exis-
tam leis de responsabilidade por danos ambientais. Os textos
a seguir mostram tambm que a temtica socioambiental no
pode ser tratada isoladamente dentro de cada pas: a responsabilidade pela sade
do Planeta de todos que nele habitam. Assim, os pases estabelecem entre si, no
plano internacional, acordos e convenes que geram compromissos e obrigaes
em temas como a biodiversidade, os direitos dos povos indgenas, o enfrentamento
do aquecimento global, o combate ao trfco de espcies de animais e plantas.
LEGISLAO
SOCIOAMBIENTAL
Acordos Internacionais, pg. 476
Legislao Brasileira, pg. 481
Responsabilidade por Danos Socioambientais, pg. 488
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 475
A
C
O
R
D
O
S
I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
LEGISLAO SOCIOAMBIENTAL
476
ACORDOS INTERNACIONAIS
FERNANDO MATHIAS BAPTISTA*
Os acordos internacionais formam um conjunto de instrumentos que estabelecem
parmetros de direito e geram compromissos relevantes para a temtica socioambiental
*Advogado, coordenador adjunto do Programa de Poltica
e Direito Socioambiental do ISA
Os acordos internacionais assumem denominaes
variadas. A expresso Tratados Internacionais usada
para designar genericamente os acordos internacionais
firmados entre pases. So instrumentos formais que
geram compromissos e obrigaes reguladas pelo direito
internacional. O termo Tratado usado para designar atos
bilaterais ou multilaterais, aos quais se pretende atribuir
uma relevncia poltica especfca. So tambm comuns
as denominaes Conveno, Protocolo, Acordo, Pacto etc.
Os atos internacionais se diferenciam pelo contedo, pelo
grau de compromisso, obrigaes e responsabilidades que
geram no plano internacional.
Alguns acordos se destinam a estabelecer apenas
diretrizes e parmetros para o tratamento de determinados
temas e no so instrumentos legais obrigatrios, como por
exemplo as Declaraes, que refetem uma manifestao
sobre o que os pases acreditam ser direitos, uma exposio
de princpios que deveriam ser respeitados por todos os
governos. Sua importncia decorre da gerao de compro-
missos de ordem moral e tica. No campo socioambiental,
a Agenda 21 um exemplo de Declarao. Outros acordos
vinculam legalmente os pases e contm mecanismos de
resoluo de disputas que podem resultar em sanes
econmicas em caso de descumprimento. o caso por
exemplo do Acordo sobre Aspectos do Direito de Propriedade
Intelectual relacionados ao Comrcio (ADPIC, ou TRIPS em
ingls), da Organizao Mundial de Comrcio (OMC).
A elaborao de um tratado internacional envolve
diversas etapas: negociao, assinatura, ratifcao, pro-
mulgao e publicao. No Brasil, compete ao Presidente
da Repblica assinar os tratados internacionais. Esse ato
ser posteriormente submetido aprovao do Congresso
Nacional, do que depende a ratifcao ou no pelo Pas.
Um tratado internacional s entra em vigor no territrio
nacional aps todas estas etapas e a sua promulgao por
meio de decreto.
Os tratados internacionais so importantes para a
questo socioambiental porque so processos que visam
criar novos direitos e princpios aplicveis aos pases. Existe
hoje um conjunto de instrumentos internacionais em
vrios temas socioambientais, estabelecendo parmetros
e compromissos que infuenciam legislaes internas e
impulsionam governos na busca de solues. Entretanto,
como normalmente o mecanismo de tomada de deciso
em tratados socioambientais o consenso entre os pases-
membros, negociaes sobre novos direitos que afetem
de qualquer forma interesses de pases desenvolvidos
tendem a gerar impasses que se prolongam por anos ou
at dcadas.
Ademais, a negociao de tratados internacionais,
especialmente econmicos, se revela em alguns casos uma
forma de presso de pases ricos sobre pases pobres, na me-
dida em que visa impor, sob pena de sanes, regras iguais
de comrcio para pases com realidades muito diferentes,
causando impactos sociais e ambientais relevantes, como
aumento de pobreza, concentrao corporativa e econmica
e degradao ambiental.
Conveno da Diversidade
Biolgica (CDB)
O principal instrumento para a proteo da biodiversi-
dade a Conveno da Diversidade Biolgica, assinada pelo
Brasil e mais de uma centena de pases durante a ECO-92.
A CDB resultado da constatao de que a biodiversidade
fundamental para o equilbrio e o futuro do Planeta e de que
a sua conservao depende de conciliar desenvolvimento
com uso sustentvel. A Conveno tem trs objetivos prin-
cipais: a conservao da biodiversidade (atravs da proteo
de ecossistemas, com a criao de reas protegidas por
exemplo); o uso sustentvel da biodiversidade e a proteo
dos conhecimentos tradicionais a ela associados (ver Di-
reito Socioambiental, pg. 236); e a repartio justa e
eqitativa de benefcios derivados do uso da biodiversidade
ou dos conhecimentos tradicionais a ela associados.
A
C
O
R
D
O
S
I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 477
LEGISLAO SOCIOAMBIENTAL
A CDB inovou ao adotar o princpio da soberania dos
pases sobre os recursos genticos existentes em seus
territrios, substituindo a concepo anterior de que tais
recursos seriam patrimnio da humanidade. Isso signifca
que qualquer pessoa interessada em acess-los deve obter
consentimento prvio e informado dos pases de origem
de tais recursos. Esse princpio gerou um confito entre a
CDB e o acordo TRIPS da OMC sobre propriedade intelectual
ligada ao comrcio. O TRIPS no exige do interessado em
uma patente que envolva acesso a recursos genticos que
comprove a legalidade do acesso no pas de origem, o que
deixa aberto campo para a privatizao indevida de recursos
genticos em pases pobres por pases ricos. Pases ricos
em biodiversidade, liderados pelo Brasil, pressionam por
mudanas no TRIPS para que este reconhea a necessidade
de o interessado na patente comprovar a legalidade do
acesso ao recurso gentico no pas de origem.
Outro aspecto importante o reconhecimento da im-
portncia dos conhecimentos, inovaes e prticas de povos
indgenas e populaes tradicionais para a conservao da
biodiversidade (ver Recursos Genticos, pg 254). A
estas comunidades foram reconhecidos basicamente dois
direitos: o de conceder consentimento prvio e informado a
qualquer pessoa interessada no uso desses conhecimentos,
para qualquer fnalidade; e o de repartir justa e eqitativa-
mente os benefcios, econmicos ou no, derivados do uso
desses conhecimentos por terceiros.
A Conveno foi ratifcada pelo Brasil em 1994 e vem
sendo regulamentada atravs de diversas leis e decretos,
como a Lei do Snuc e a Medida Provisria n 2.186-16/2001,
que estabelece as condies para o uso dos recursos genti-
cos e conhecimentos tradicionais associados e a repartio
justa dos benefcios derivados desse uso.
Protocolo de Cartagena
sobre Biossegurana
O Protocolo de Biossegurana um acordo gerado no
mbito da CDB, em 29 de janeiro de 2000, com o objetivo
de assegurar proteo e segurana no manejo, uso e mo-
vimento transfronteirio de organismos vivos modifcados
(OVMs) contra possveis efeitos adversos no meio ambiente
e na sade humana. Vigente desde setembro de 2003, o pro-
tocolo tem como fundamento o princpio da precauo e
possibilita que pases-membros probam a importao de
OVMs em caso de incerteza quanto segurana do produto.
O protocolo tambm exige de pases exportadores a rotu-
lagem adequada de produtos que contenham OVMs, tais
como algodo ou soja. No entanto, interesses econmicos
tornam as negociaes lentas e difceis. O protocolo conta
atualmente com 141 pases-membros.
Conveno sobre Mudanas Climticas
A Conveno Quadro das Naes Unidas sobre Mudanas
Climticas, conhecida como Conveno do Clima, aberta assi-
natura durante a ECO-92 e ratifcada por mais de 175 pases, foi
a primeira a reconhecer formalmente que o clima da Terra est
mudando rapidamente em funo da atividade humana sobre
o meio ambiente. A partir dessa constatao, chegou-se a um
amplo consenso cientfco em torno da necessidade de haver
uma regulao global sobre a emisso de gases de efeito estufa
e outras atividades que contribuem para o aquecimento global.
Para reverter esse quadro, os pases que assinaram a Conveno
concordaram em assumir a meta de estabilizar a emisso de
gases de efeito estufa em um nvel que no interfra no sistema
climtico e, portanto, na vida sobre a Terra.
Para implementar os objetivos da Conveno, foi
assinado em 1997 o Protocolo de Quioto, um acordo pelo
qual as partes se comprometem a cumprir metas objetivas
e progressivas de reduo de emisso de gases de efeito
estufa. Os pases signatrios da conveno foram divididos
em dois grupos: os do anexo I, onde esto os pases eco-
nomicamente desenvolvidos e os antigos pases do leste
europeu em transio para uma economia de mercado, e
que devem assumir metas de reduo de suas emisses
at o ano de 2008; e os pases do anexo II, que em um
primeiro momento no se obrigam com metas de reduo,
mas que, se o fzerem, podem utilizar sua reduo como
crdito para transacionar com os pases do anexo I, pelos
chamados mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL)
(ver Mudana Climtica Global, pg. 358).
Conveno da Unesco sobre a Proteo
e Promoo da Diversidade
das Expresses Culturais
A necessidade de criar uma plataforma de cooperao
internacional capaz de fortalecer e estimular a diversidade
A
C
O
R
D
O
S
I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
LEGISLAO SOCIOAMBIENTAL
478
de manifestaes culturais no mundo levou a Unesco a
discutir e adotar, em outubro de 2005, uma Conveno
especfca para tratar desse assunto. A Conveno Sobre
a Proteo e Promoo da Diversidade das Expresses
Culturais resultado de um longo processo de discusso e
de dois anos de negociaes entre governos. O texto refora
o conceito includo, em 2001, na Declarao Universal sobre
Diversidade Cultural, que considera a diversidade cultural
como Patrimnio da Humanidade.
A Conveno reconhece aos pases o direito soberano
de elaborar polticas culturais prprias para proteger e
promover a diversidade de expresses culturais, a partir
do entendimento de que os bens culturais no podem
ser considerados apenas sob o ponto de vista econmico,
pois so portadores de identidades, valores e signifcados.
Na prtica, isso abre caminho para a criao de polticas
de incentivo e promoo cultural que incluam assistncia
financeira pblica e no estejam sujeitas s regras de
livre concorrncia do mercado. Por trs dessa inteno h
o entendimento de que o processo de globalizao e as
tecnologias de informao e comunicao atuais represen-
tam um desafo para a diversidade cultural, especialmente
em relao ao desequilibrio entre pases ricos e pobres e
concentrao corporativa da indstria cultural. A Conveno
conta com a oposio dos Estados Unidos, que argumenta
basicamente que o texto da Conveno pode ferir direitos
de propriedade intelectual assegurados pela OMC (ver Bens
Culturais, pg. 270 e A licena Creative Commons e o
acesso ao conhecimento, pg. 484).
Conveno sobre Direito do Mar
O mar passou a ser considerado, ao longo do tempo,
no apenas uma via de transporte ou fonte de alimentos,
mas tambm gerador de riquezas e matrias-primas para
desenvolvimento da indstria. medida que a capacidade
tecnolgica de explorar petrleo em guas rasas aumenta o
potencial econmico dos mares, pases passaram a incorpo-
rar maior parcela do espao martimo a seus domnios.
Em razo da necessidade de estabelecer uma ordem
jurdica global sobre o uso dos mares, foi estabelecida a
Conveno das Naes Unidas sobre o Direito do Mar, em
10 de dezembro de 1982, em Montego Bay, Jamaica. O
Brasil assinou a Conveno junto com outros 118 pases
e ratifcou-a em 22 de dezembro de 1988. A Conveno
entrou em vigor no dia 16 de novembro de 1994 e defniu
os espaos martimos, suas condies e restries de uso,
alm de determinar que todo Estado tem o direito de fxar
a largura de seu mar territorial at o limite de 12 milhas
a partir da linha de baixa-mar ao longo da costa. Defniu
ainda que a soberania do Estado ser exercida no s sobre
o mar territorial, como tambm sobre o espao areo, o leito
e o subsolo dessa zona (ver Zona Costeira, pg. 195 e
Pesca, pg. 319).
Conveno de Viena e Protocolo
de Montreal sobre Proteo da
Camada deOznio
A partir de um consenso internacional de que a camada
de oznio precisa ser protegida (ver No Confunda..., pg
364), foram estabelecidos dois instrumentos visando evitar
o aumento no buraco da camada de oznio terrestre: a
Conveno de Viena e o Protocolo de Montreal. A Conveno
de Viena tem por objetivo principal a proteo da sade
humana e do meio ambiente contra os efeitos nocivos das
alteraes na camada de oznio. O Protocolo de Montreal,
por sua vez, um instrumento complementar Conveno
de Viena, cujo objetivo estabelecer metas para a reduo
da emisso e proibio da fabricao de gases e substncias
que degradam a camada de oznio pelos pases signatrios.
O Brasil signatrio tanto da Conveno como do Protocolo,
tendo ratifcado este ltimo atravs do Decreto n 99.280,
de 7 de junho de 1990.
Conveno sobre Comrcio Internacional
das Espcies da Fauna e Flora Selvagens
em Perigo de Extino (CITES)
O trfco internacional de plantas e animais representa
uma das atividades que mais contribui para o aumento do
risco de extino de espcies da fora e fauna no mundo.
Ainda na dcada de 1970, atentos a esse fato, pases
frmaram a Conveno sobre o Comrcio Internacional das
Espcies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extino
(CITES, sigla em ingls). A CITES foi assinada em 3 de maro
de 1973, na cidade de Washington, EUA e conta com cerca de
160 pases-membros. O Brasil passou a ser signatrio a partir
do Decreto n 76.623, de 17 de novembro de 1975.
A
C
O
R
D
O
S
I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 479
LEGISLAO SOCIOAMBIENTAL
A Cites tem por objetivo controlar o comrcio inter-
nacional de fauna e fora silvestres e fscalizar o comrcio
de espcies ameaadas com base num sistema de licena
e certifcados. A Conveno se limita apenas ao comrcio
internacional. As espcies que sofrem o controle da Cites
so defnidas atravs de acordo entre as partes e listadas
conforme o grau de ameaa na forma de trs anexos: I)
espcies reconhecidamente ameaadas de extino, cujo
comrcio s autorizado em circunstncias excepcionais;
II) espcies em perigo, cujo comrcio rigorosamente
regulamentado; e III) espcies vulnerveis, cujo comrcio
precisa ser controlado. O mogno, por exemplo, tem sido
alvo de polmica. At 2002 fazia parte do Anexo III, o que na
prtica permitia a explorao desregrada da valiosa madeira
no Brasil com vistas ao mercado internacional. Guatemala e
Nicargua pressionaram e conseguiram a transferncia do
mogno para o Anexo II, aumentando o grau de proteo a
essa espcie, apesar da posio contrria do Brasil.
No Brasil, o MMA e o Ibama elaboram, anualmente,
em parceria com outras instituies, a lista das espcies da
fauna brasileira ameaadas de extino. A lista utilizada
como referncia na aplicao da lei de crimes ambientais,
na defnio de impacto ambiental de empreendimentos
e no direcionamento de projetos e programas do governo.
No h lista similar para espcies da fora (ver Fauna, pg.
243; Flora, pg. 249).
Conveno Internacional de Combate
Desertifcao nos Pases Afetados por
Desertifcao e/ou Seca
A Conveno de Combate Desertifcao parte da
premissa de que a desertifcao um dos problemas so-
cioambientais mais prementes em muitos pases no mundo
(ver Solo, pg. 333). As regies semi-ridas representam
quase um tero da superfcie do Planeta, abrigando mais
de 1 bilho de pessoas. Desde 1977, as Naes Unidas vm
trabalhando no sentido de implementar um Plano de Ao
de Combate Desertifcao (PACD), mas reconhece que
houve pouco avano no trato do problema.
Ciente disso, a Eco-92 buscou lanar uma abordagem
integrada do problema, e como resultado foi estabelecida
a necessidade de uma Conveno sobre o tema, que entrou
em vigor no plano internacional em dezembro de 1996
e atualmente conta com cerca de 190 pases-membros.
O objetivo promover e incentivar a gesto sustentvel
das forestas e a proteo de prticas e conhecimentos
tradicionais, visando combater a desertifcao e mitigar
os efeitos da seca em pases cujos territrios compreendam
zonas ridas, semi-ridas e sub-midas secas, por meio de
estratgias integradas de longo prazo baseadas no aumento
da produtividade da terra e na reabilitao, conservao e
gesto sustentada dos recursos em terra e da gua. O Brasil
tornou-se parte da Conveno de Combate Desertifcao
em 25 de junho de 1997 (ver Caatinga, pg. 107).
Conveno sobre Poluentes Orgnicos
Persistentes (POPs)
Tambm conhecida como Conveno de Estocolmo, ou
Tratado dos POPs, a Conveno sobre Poluentes Orgnicos
Persistentes foi assinada por mais de 100 pases na capital
da Sucia em 2001 e entrou em vigor em 2004. O objetivo da
Conveno eliminar a produo, uso e disposio de subs-
tncias qumicas txicas, visando proteger a sade humana
e o meio ambiente dos efeitos danosos dos poluentes org-
nicos persistentes (POPs). A Conveno prope a utilizao,
comercializao, manejo e o descarte destes poluentes de
forma ambientalmente adequada e a gerao de um sistema
de regulamentao e avaliao que impea a produo e
a introduo no mercado de novos pesticidas e produtos
industriais contendo POPs. Para tanto, promove a adoo
do Princpio da Substituio, que estabelece a necessidade
de implementao de uma alternativa sempre que uma
atividade, prtica ou produto gerem ameaa de dano srio
e irreversvel ao meio ambiente ou sade.
SOCIOAMBIENTAL
UMA PALAVRA S
A
C
O
R
D
O
S
I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
LEGISLAO SOCIOAMBIENTAL
480
SAIBA MAIS OIT (http://www.ilo.org/public/
portugue/region/ampro/brasilia/).
VEJA TAMBM Legislao Brasileira (pg. 481);
Conferncias Internacionais (pg. 496).
A Conveno trata de substncias qumicas como pestici-
das e PCBs (bifenilas policloradas), alm daquelas resultantes
no intencionalmente da produo e uso de outros POPs, como
as que resultam da queima de plsticos PVC. Essas substncias,
consideradas perigosas e, em muitos casos, cancergenas, so
freqentemente encontradas nas residncias e nos ambientes
de trabalho em todo mundo. Dentre elas, h uma lista de 12
substncias prioritrias, conhecidas como os doze sujos. A
Conveno admite que o pas signatrio solicite a incluso
de uma substncia determinada na lista de excees, o que
signifca que, por um perodo, ela no far parte dos planos
de ao de banimento naquele pas. No caso do Brasil, que
ratifcou o acordo em 2004, houve uma solicitao em relao
ao heptacloro (ver Os POPs, pg. 457).
Conveno 169 da OIT sobre
Povos Indgenas e Tribais em
Pases Independentes
Desde sempre, os instrumentos legais nacionais
ou internacionais que tratavam dos direitos de povos
indgenas tinham uma abordagem integracionista, dirigida
assimilao e aculturao dos povos indgenas pelas socie-
dades nacionais. Partiam da premissa hoje superada de
que tais povos viviam em condies culturais transitrias,
que cessariam medida que convivessem com a sociedade
no-indgena.
A Conveno 169 sobre Povos Indgenas e Tribais em
Pases Independentes da Organizao Internacional do
Trabalho (OIT), que entrou em vigor em 1 de setembro
de 1991 e conta com a ratificao de 17 pases, foi o
primeiro instrumento internacional a reconhecer a
plurietnicidade dos Estados nacionais e a admitir a exis-
tncia de povos indgenas culturalmente diferenciados,
com o direito de viver e desenvolver-se de acordo com
seus prprios projetos de vida e prioridades. A Conveno
169 reconhece tambm o direito dos povos indgenas de
participar de processos de tomadas de deciso gover-
namental ou no-governamental, relativos a polticas
ou obras de infra-estrutura que causem impacto sobre
seus modos de vida ou territrios. A conveno foi rati-
ficada pelo Brasil em 25 de julho de 2002 (ver Direitos
Socioambientais, pg. 236).
(Minuta de) Declarao sobre
os Direitos dos Povos Indgenas
Desde 1985, a Organizao das Naes Unidas (ONU)
vem se propondo a esboar uma Declarao sobre os
direitos dos povos indgenas para futura considerao
por sua Assemblia Geral. Uma Minuta de Declarao
foi produzida ao longo de anos no mbito do Grupo de
Trabalho sobre Populaes Indgenas, com a participao
de governos, representantes indgenas e outros membros
da sociedade civil de diversos pases. Em 1994, a Minuta
foi aprovada pela Subcomisso de Preveno de Discri-
minao e Proteo de Minorias da ONU, sendo remetida
no ano seguinte Comisso de Direitos Humanos, ins-
tncia na qual ainda permanece. Na Comisso de Direitos
Humanos, o texto passou a sofrer inmeras presses de
governos determinados a emendar substancialmente o
texto, gerando impasses que tm emperrado o processo
de aprovao da Declarao. Em 29 de junho de 2006, a
Declarao foi aprovada na Comisso de Direitos Humanos
e enviada para ratifcao pela Assemblia Geral da ONU. O
texto, no entanto, no chegou a ser submetido aprovao
pela cpula da ONU, em novembro de 2006, por causa de
resistncia de pases africanos apoiados pelos Estados
Unidos e Canad.
O texto, extremamente avanado, refete o conjunto
das reivindicaes atuais dos povos indgenas em todo o
mundo acerca da melhoria de suas relaes com os Estados
nacionais e j serviu para estabelecer parmetros mnimos
para outros instrumentos internacionais e leis nacionais
desde ento. Dele constam princpios como a igualdade de
direitos e a proibio de discriminao, o direito autode-
terminao e a necessidade de fazer do consentimento e do
acordo de vontades o referencial de todo o relacionamento
entre povos indgenas e Estados (ver Povos Indgenas,
pg. 226).
L
E
G
I
S
L
A
O
B
R
A
S
I
L
E
I
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 481
LEGISLAO SOCIOAMBIENTAL
LEGISLAO BRASILEIRA
RAUL SILVA TELLES DO VALLE*
O Brasil possui uma legislao socioambiental abrangente e, comparada com outros
pases latino-americanos, bastante avanada no reconhecimento de direitos. Falta, porm,
organizao institucional para implement-la adequadamente
Remonta ao perodo colonial as primeiras leis que tentam
regulamentar o uso dos recursos naturais, como o famoso
alvar rgio que impunha limites extrao de pau-brasil. Mas
at a dcada de 1970 do sculo XX a legislao ambiental se
preocupava apenas em prevenir o desabastecimento pblico
de alguns bens de interesse (como madeira e peixes) e evitar
confitos entre vizinhos pelo uso de determinado recurso
natural. Foi apenas nos anos 1980 que, na esteira do que
estava ocorrendo em nvel internacional, a legislao brasileira
comeou a se preocupar propriamente com a manuteno
do equilbrio ecolgico e a reconhecer o direito humano
fundamental de toda a sociedade em usufruir dos servios
ambientais fundamentais a uma vida digna e de qualidade
(ver Os Campees do Desmatamento, pg. 79).
Embora nossa legislao seja bastante abrangente
(trata de muitos temas) e juridicamente avanada, ainda
pouco aplicada, em funo da baixa conscincia ambiental da
sociedade em geral e da inefcincia do Estado em fscalizar,
evitar e punir atividades que desrespeitem esses direitos. O
Ministrio Pblico, a partir da dcada de 1980, se tornou um
importante ator na implementao da legislao ambiental
no Pas, cobrando o respeito s leis estabelecidas ao acionar
judicialmente os infratores, sejam eles o Poder Pblico, auto-
ridades, empresas ou cidados. Mas a desobedincia s regras
estabelecidas ainda grande e, seja por razes institucionais,
econmicas ou culturais, a lei ainda est muito distante da
realidade. Para que essa situao se modifque, necessrio
que a preocupao com a preservao do meio ambiente
esteja presente no apenas nas leis ambientais, mas tambm
nas que regulamentam os setores que exercem presso sobre
os recursos naturais, e que os rgos de controle ambiental
se estruturem melhor e que a sociedade passe a cobrar dos
degradadores a reparao dos danos por eles causados.
Constituio Federal de 1988
Lei maior do Pas, a Constituio estabelece princpios
e diretrizes jurdicos pelos quais o Pas dever se guiar e
com base nos quais toda a legislao dever ser elaborada
ou adaptada. O Brasil j teve, desde sua independncia,
diversas cartas constitucionais, cada uma refetindo uma
poca do Pas e da sociedade nacional. A Constituio Federal
vigente, de 1988, tambm conhecida como Constituio
Cidad, dada a sua modernidade e a forma como trata
de diversos temas afetos ao desenvolvimento nacional.
fruto de uma ampla convergncia da sociedade nacional,
aps o fm do regime militar, no sentido de dotar o Pas de
instituies mais fortes e democrticas e de garantir direitos
fundamentais a todos os brasileiros, independentemente de
raa, credo, sexo ou fliao ideolgica. Entre os princpios
relevantes temtica socioambiental destacam-se:
M
O Brasil composto por uma sociedade pluritnica e
multicultural, sendo garantido a todos o pleno exerccio de
direitos culturais; cabe ao Estado proteger e valorizar essa
diversidade;
M
O desenvolvimento econmico do Pas deve ter como base
a manuteno do equilbrio ecolgico, o que exige, dentre
outras coisas, que o direito de propriedade seja exercido de
forma a cumprir sua funo social, o que inclui a manuteno
dos servios ambientais e a proteo da fauna e fora;
M
A propriedade rural, para ser protegida pelo Estado,
dever cumprir sua funo socioambiental (ser utilizada
adequadamente, preservar o meio ambiente e favorecer o
bem-estar dos trabalhadores), caso contrrio estar sujeita
desapropriao para fns de reforma agrria;
M
Todos temos o direito fundamental a um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, cabendo ao Estado e socieda-
de, em regime de cooperao, preserv-lo para as presentes
e futuras geraes, o que ser efetuado, dentre outros meios,
pela criao de reas protegidas, pela elaborao de Estudo
Prvio de Impacto Ambiental (EIA) para obras e projetos de
signifcante impacto, pela proteo da fauna e da fora e pela
promoo da educao ambiental;
*Advogado, coordenador do Programa de Poltica e Direito Socioambiental do ISA
L
E
G
I
S
L
A
O
B
R
A
S
I
L
E
I
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 482
LEGISLAO SOCIOAMBIENTAL
M
A Mata Atlntica, a Floresta Amaznica, a Serra do Mar,
o Pantanal Matogrossense e a Zona Costeira so patrimnio
nacional, e sua utilizao dever ser feita dentro de condi-
es que assegurem proteo especial ao meio ambiente;
M
Os povos indgenas tm direito a viver segundo seus
usos, costumes e tradies, os quais devero ser respeitados
pelo Estado, cabendo a este demarcar e proteger as terras
tradicionalmente ocupadas e garantir o bem-estar das
comunidades (ver Estatuto do ndio, pg. 485);
M
As comunidades remanescentes de quilombos tm
direito sobre as terras que ocupam, cabendo ao Estado o
dever de titul-las;
M
O Estado garantir a todos o pleno exerccio dos direitos
culturais, protegendo as manifestaes das culturas popu-
lares, indgenas e afro-brasileiras.
Todos esses princpios e diretrizes esto hoje espelhados
em diversas leis e decretos (dos nveis federal, estadual e
municipal) que tentam implementar aquilo que foi gene-
ricamente assegurado na Constituio Federal.
Lei da Poltica Nacional do Meio Ambiente
(Lei n 6938/81)
talvez o grande marco legislativo do direito ambiental
brasileiro. Aprovada no incio da dcada de 1980, quando
a temtica ambiental sequer engatinhava no Pas, e em
pleno regime ditatorial, essa lei trouxe conceitos, princpios
e regras jurdicos extremamente avanados para a poca
(alguns so avanados mesmo hoje), alm de ter criado a
estrutura administrativa ambiental vigente at hoje (deno-
minada Sistema Nacional do Meio Ambiente Sisnama).
A lei da PNMA trouxe alguns dos princpios fundamen-
tais do direito ambiental brasileiro, que servem para guiar a
ao dos particulares e do poder pblico, tais como:
M
Os recursos naturais devem ser utilizados de forma
sustentvel, evitando o desperdcio, o mau-uso ou a sua
completa depleo;
M
Todos os ecossistemas existentes em territrio nacional
merecem ser protegidos e preservados, o que demanda a
criao de UCs;
M
O poder pblico deve controlar as fontes de poluio,
tendo em vista a necessidade de garantir o bem-estar da
populao e a sanidade do meio ambiente. Para tanto, deve,
alm de fscalizar as fontes de poluio, realizar um plane-
jamento adequado para identifcar quais as reas passveis
de serem ocupadas por atividades poluidoras, diminuindo
assim o risco de contaminao das pessoas;
M
Aqueles que, em funo de interesses particulares,
degradarem qualquer bem ambiental, sero obrigados a
reparar o dano, ou indenizar a sociedade pela perda desse
bem. Ou seja, qualquer dano ambiental deve ser recuperado
pelo seu causador e no pela sociedade, como acontecia
antes. Alm disso, aquele que se utilizar de recursos naturais
para suas atividades econmicas, deve pagar por esse uso,
para que o desperdcio ou mau-uso sejam evitados.
Essa lei criou, ainda, os instrumentos atravs dos quais
esses princpios poderiam ser aplicados na prtica, dos quais
se destacam: a) estabelecimento de padres de qualidade
ambiental; b) zoneamento ambiental; e c) avaliao de
impacto ambiental para polticas, programas e obras.
Lei da Poltica Nacional de Recursos Hdricos
(Lei Federal n 9.433/97)
Tem como objetivo criar uma base legislativa nica
para a gesto da gua no Pas. Dentre as grandes inova-
es, est a adoo da bacia hidrogrfca como unidade
de gesto dos recursos hdricos, o que aprimorou imensa-
mente sua gesto, j que a gua no conhece as fronteiras
poltico-administrativas e, portanto, a poluio causada
em um municpio vai afetar necessariamente outros que
so abastecidos pelo mesmo corpo dagua. Segundo a
lei, a PNRH dever ser regida de acordo com os seguintes
fundamentos:
a) A gua deve ser percebida como um bem de domnio
pblico, cuja gesto pelo poder pblico deve sempre pro-
porcionar o uso mltiplo e que, em situaes de escassez,
deve ser usado prioritariamente para consumo humano e
dessedentao de animais;
b) A gesto dos recursos hdricos deve ser descentra-
lizada, contando com a participao do Poder Pblico, dos
usurios e das comunidades;
c) A unidade territorial de gesto dos recursos hdricos
deve sempre ser a bacia hidrogrfca;
d) A gua um recurso natural limitado, imprescindvel
ao bem-estar humano e ao desenvolvimento econmico, e
portanto dotado de valor econmico.
A PNRH ser implementada pelos rgos federais e
L
E
G
I
S
L
A
O
B
R
A
S
I
L
E
I
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 483
LEGISLAO SOCIOAMBIENTAL
estaduais que compem o Sistema Nacional dos Recursos
Hdricos (SNRH), que so os seguintes:
a) Conselho Nacional e Conselhos Estaduais de Recursos
Hdricos, que tm carter deliberativo e normativo dentro
do sistema;
b) Comits de Bacias Hidrogrfcas, que so colegiados
compostos por representantes da Unio, dos Estados, dos
Municpios, dos usurios e das organizaes da sociedade
civil, e que tm funo de discutir e decidir sobre a gesto dos
recursos hdricos em sua respectiva bacia hidrogrfca;
c) Agncia Nacional de guas, que uma autarquia
federal com funes variadas, como realizar a cobrana pelo
uso da gua e proceder outorga de direito de uso da gua
em rios federais, dentre outros;
d) rgos estaduais de recursos hdricos, responsveis
por gerir as guas de domnio estadual;
e) Agncias de Bacia Hidrogrfca, que atuaro como
braos executivos dos comits de bacia.
Um dos grandes instrumentos trazidos pela lei a
cobrana pelo uso dos recursos hdricos, instrumento que
permite aos comits de bacia cobrar uma taxa daqueles que
se utilizam de recursos hdricos como parte de seu processo
produtivo, como empresas de saneamento, fbricas, agri-
cultura etc. Infelizmente, at hoje em poucos lugares esse
instrumento foi implementado.
Lei do Sistema Nacional de
Unidades de Conservao SNUC
(Lei Federal n 9985/00)
At 2000, o Brasil no tinha uma lei nica que regulamen-
tasse a criao e a gesto de unidades de conservao (UCs),
o que trazia muita confuso e impossibilitava uma gesto
integrada das reas protegidas que efetivamente conservasse
a biodiversidade brasileira. A Lei do SNUC estabeleceu regras
comuns para todas as UCs e possibilitou a criao de um
sistema nacional que articulasse todas essas reas protegidas
em prol de objetivos e estratgias de conservao comparti-
lhados. Segundo a lei, existem dois tipos de UCs: as de proteo
integral, que no permitem qualquer uso direto (corte, coleta,
extrao) dos recursos naturais, e as de uso sustentvel, que
permitem o uso direto, mas com regras mais restritas. A criao
de qualquer UC deve ser precedida de estudos cientfcos que
identifquem quais recursos naturais devem ser protegidos e,
com exceo das Estaes Ecolgicas e Reservas Biolgicas, de
consulta populao que vive no local. Alm disso, toda UC
deve dispor de um plano de manejo, que um documento
tcnico que deve servir de guia para a gesto da rea, defnin-
do locais a serem prioritariamente protegidos, recuperados,
pesquisados ou dotados de infra-estrutura para visitao,
educao ambiental, fscalizao, dentre outros. Como uma
forma de democratizar a gesto das UCs, a lei prev a existn-
cia obrigatria dos conselhos de gesto, que so colegiados
compostos por representantes de diversos rgos pblicos e
de diferentes setores da sociedade civil que devem se reunir
periodicamente para discutir os assuntos relevantes boa
administrao da rea e apoiar o seu aprimoramento. (ver
reas Protegidas, pg. 261).
Cdigo Florestal
(Lei Federal n 4771/65)
a lei que protege as florestas e demais formas de
vegetao nativa no Pas, considerando-as como bens de
interesse comum a todos os habitantes e condicionando o
exerccio do direito de propriedade sua utilizao racional.
Segundo a lei, todas as formas de vegetao situadas nas
margens de rios, lagoas ou reservatrios de gua artifciais,
bem como aquelas situadas em topos de morro, encostas
ngremes, bordas de chapadas, altitudes superiores a 1.800
metros, dentre outras, so consideradas como de preservao
permanente (APPs), sendo proibida sua derrubada, com ex-
ceo de casos de utilidade pblica ou interesse social. Alm
dessas reas, as propriedades rurais devem manter tambm
uma parte de sua superfcie coberta com vegetao nativa, o
que denominado de Reserva Legal. Nessas reas tambm
proibido o corte raso, sendo, no entanto, permitido o manejo
forestal sustentvel, ou seja, so reas sujeitas explorao
econmica racional. De acordo com a lei, toda atividade eco-
nmica que se utilize de matria-prima forestal (indstria de
papel e celulose, siderrgicas, carvo etc.) deve manter, direta
ou indiretamente, reas forestadas, com espcies exticas ou
nativas, que supram integralmente suas necessidades. Essa
regra visa a impedir o avano do desmatamento de reas
de forestas nativas, na medida em que obriga a reposio
daquilo que utilizado. Mesmo aquelas forestas no situadas
em reas de Preservao Permanente ou em Reservas Legais,
para poderem ser exploradas, dependem de autorizao
L
E
G
I
S
L
A
O
B
R
A
S
I
L
E
I
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 484
LEGISLAO SOCIOAMBIENTAL
prvia do rgo ambiental competente. O Cdigo Florestal
se aplica tanto a reas de domnio pblico quanto s reas
particulares (ver Poltica Florestal, pg. 274).
Lei da Mata Atlntica
(Lei Federal 11.428/06)
Finalmente em 2006, aps 14 anos de debates, foi
aprovada uma lei para regulamentar o uso e a preservao
da Mata Atlntica, substituindo o juridicamente frgil
Decreto 750/93. Baseada no mapa de biomas do Instituto
Brasileiro de Geografa e Estatstica (IBGE), a lei defne
como Mata Atlntica no apenas a foresta atlntica pro-
priamente dita, mas tambm outras formaes forestais
e ecossistemas associados, como a matas de araucria,
manguezais e restingas.
A lei tem como objetivo preservar o que resta de
remanescentes forestais no Pas (menos de 7%) e criar os
meios para que a foresta volte a vicejar em locais onde hoje
A LICENA CREATIVE COMMONS E O ACESSO AO CONHECIMENTO
CAROLINA ROSSINI*
*Pesquisadora e mestranda pela Boston University - School of Law, foi coorde-
nadora de Prtica Jurdica, professora e pesquisadora na rea de propriedade
intelectual do Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV Direito Rio
A proteo propriedade intelectual (PI) justifcada
pela afrmativa de que a concesso de um quase monop-
liotemporrio seria a nica forma legtima de incentivar
a criao intelectual. Esse argumento naturaliza-se nas
falas dos pases desenvolvidos que lutam contra tratados
que buscam equilibrar o sistema de PI, como a Agenda do
Desenvolvimento e o Tratado de Acesso ao Conhecimento.
Entretanto, como justifcar que os iniciais 14 anos de pro-
teo durante a vida do autor expandiram-se, atualmente,
para 70 anos aps a morte do autor no Brasil ou 95 anos
aps a morte do autor nos EUA?
H que ser claro. O que se protege so os inves-
timentos realizados pelos grandes intermedirios
(produtoras, gravadoras, editoras de livros etc.), as
chamadas majors, e no o autor. Na maioria das vezes, o
autor recebe apenas de 8% a 10% do preo de seus livros
ou CDs vendidos e, aps assinar um contrato com uma
major, deixa de ser dono de suas prprias obras.
O problema cresce quando esta proteo transforma-
se em forma de abuso de poder e de direito, ampliando in-
justifcadamente as barreiras ao conhecimento. Entretanto,
h que se lembrar que a Constituio Brasileira e os tratados
de direitos humanos protegem o direito educao, cultura
e informao e isto que deve guiar a interpretao da
legislao em torno da propriedade intelectual.
Ademais, a realidade, regada pela Internet, prova
algo bem diferente sobre quais so os reais incentivos
criao. Um grande exemplo o movimento do software
livre, pessoas que fazem programas de computador com
cdigo aberto, ou seja, que podem ser aproveitados
livremente para a criao de novos programas e softwares
de computador. Outro exemplo a Wikipedia, uma enci-
clopdia on-line colaborativa, que pode ser editada por
qualquer pessoa. Nestas e outras iniciativas, os incentivos
criao giram em torno de idias como a colaborao;
altrusmo; novos negcios com foco em servios de valor
adicionado; inovao em marketing; benefcio ao usurio
fnal etc. Entretanto, como toda a criao protegida
desde seu nascimento, o detentor de direito que queira
disponibilizar ao pblico sua obra, deve diz-lo expressa-
mente por meio de uma licena diferenciada. O Creative
Commons (CC), licena de direitos autorais alternativa aos
moldes tradicionais de proteo PI, vem, assim, expandir
a quantidade de obras criativas disponveis ao pblico e
permitir a criao de novas obras e o compartilhamento
das mesmas. O CC gera a segurana jurdica necessria para
a distribuio e acesso ao conhecimento, reequilibrando
o sistema de criao e permitindo a incluso cultural e
educacional necessria em pases como o Brasil.
SAIBA MAIS Creative Commons (www.creative
commons.org.br); Wikipedia (http://pt.wikipedia.
org); Estdio Livre (www.estudiolivre.org).
L
E
G
I
S
L
A
O
B
R
A
S
I
L
E
I
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 485
LEGISLAO SOCIOAMBIENTAL
est praticamente extinta. Dessa forma, regula apenas o
uso dos remanescentes no estgio primrio e nos estgios
secundrio inicial, mdio e avanado de regenerao.
A lei no probe defnitivamente o corte de vegetao
ou ocupao de reas, mas cria critrios rgidos para tanto. O
princpio por ela adotado de que as reas mais conservadas
devem ser mais protegidas, as reas degradadas devem ser
enriquecidas e as reas abertas devem ter seu uso intensif-
cado, para evitar o avano sobre a foresta.
Qualquer um que queira desmatar alguma rea de Mata
Atlntica deve pedir autorizao para o rgo ambiental
estadual, que s autorizar em casos excepcionais, verifcado
o interesse social ou utilidade pblica e desde que no exista
outro local para a instalao da obra ou empreendimento. Para
contrabalanar as restries estabelecidas, a lei diz que o poder
pblico dever criar incentivos econmicos para aqueles que
desejam proteger ou usar sustentavelmente os remanescentes
forestais (ver Reforma Tributria, pg. 451).
Lei de Gesto de Florestas Pblicas
(Lei 11.284/06)
Como uma tentativa de estimular a criao de um
mercado para madeira e subprodutos forestais extrados
de forma sustentvel, assim como para evitar a grilagem
de terras pblicas, foi aprovada no incio de 2006 a Lei de
Gesto de Florestas Pblicas. Essa nova legislao permite
que o governo conceda a particulares a explorao de
forestas situadas em terras pblicas, e veio para superar
um aparente entrave existente na expanso do mercado
de madeira manejada na Amaznia brasileira, pois a grande
maioria das terras ali situadas so pblicas.
Alm de regularizar o manejo sustentvel em forestas
pblicas, a lei cria o Servio Florestal Brasileiro (SFB), respon-
svel por gerir todo o sistema de concesses. As reas passveis
de explorao devem estar inseridas nos distritos forestais,
criados pelo presidente da Repblica por indicao do SFB, e
cada concesso pode durar at 40 anos. Antes de se conceder a
rea para explorao de madeira, no entanto, o poder pblico
dever regularizar a posse das populaes tradicionais resi-
dentes e, quando a rea for de relevncia para a conservao
da biodiversidade, criar unidades de conservao.
Em seus primeiros dez anos, o novo sistema ser operado
em carter experimental e, segundo estimativa do Ministrio
do Meio Ambiente, dever dispor aproximadamente 13 mi-
lhes de hectares de forestas na Amaznia para explorao
comercial, o que equivale a 3% do territrio amaznico.
Estatuto da Cidade (Lei Federal n 10.257/01)
um instrumento de reforma urbana aprovado aps 11
anos de negociao no Congresso Nacional. Ele tem como
objetivo maior disponibilizar ferramentas que permitam aos
municpios gerirem adequadamente seus territrios, evitando
ou revertendo problemas vivenciados em grande parte das
grandes e mdias cidades brasileiras. As inovaes contidas
no Estatuto situam-se em trs campos: instrumentos de
natureza urbanstica voltados para induzir formas desejveis
e planejadas de uso e ocupao do solo; gesto participativa
das cidades, que incorpora a idia de participao direta do
cidado em processos decisrios sobre o destino da cidade;
ampliao das possibilidades de regularizao das posses
urbanas, muitas das quais esto at hoje em situao ilegal.
De acordo com o Estatuto da Cidade, reas urbanas
subutilizadas esto sujeitas a sanes como pagamento de
IPTU progressivo no tempo e edifcao e parcelamento com-
pulsrios, de acordo com a destinao prevista para a regio
pelo Plano Diretor (ver Ubanizao, pg. 380). A lei d
grande importncia ao Plano Diretor, adotado como o grande
instrumento de desenvolvimento territorial das cidades.
Estatuto do ndio
(Lei Federal n 6001/73)
Depois da Constituio Federal, o principal diploma
legal que trata de direitos indgenas no Pas. Aprovado como
parte da reforma da poltica indigenista do governo militar, o
estatuto est profundamente marcado por uma mentalidade
integracionista e tutelar, segundo a qual os indgenas deveriam
ser tutelados pelo Estado brasileiro, atravs do rgo federal
de assistncia ao ndio (Funai), at que se aculturassem e
pudessem ser integrados sociedade nacional, passando
ento a ser tratados como os demais brasileiros.
Essa viso integracionista, que tem subjacente a si a
idia de uma cultura superior (ocidental) que dominaria
uma cultura inferior (indgena), foi abolida de nossa le-
gislao com a Constituio Federal de 1988, que reconhece
o direito dos ndios viverem segundo seus usos, costumes
e tradies. Isso signifca que o Estado deve compreender
L
E
G
I
S
L
A
O
B
R
A
S
I
L
E
I
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 486
LEGISLAO SOCIOAMBIENTAL
as peculiaridades da cultura de cada povo para formatar
polticas pblicas que respeitem essas caractersticas e valo-
rizem as prticas tradicionais, levando aos ndios cidadania,
sem que isso signifque a perda de sua identidade cultural
enquanto povo.
Aps a Constituio de 1988 comeou a surgir legislao
especfca para tratar da educao, da sade, do uso de
recursos naturais, da demarcao de terras, dentre outros
assuntos de relevncia ao bem-estar das populaes ind-
genas. Hoje o Estatuto do ndio continua formalmente em
vigor, pois nunca foi expressamente revogado, mas alguns
de seus dispositivos, por se chocarem com as novas regras
constitucionais, j no se aplicam.
Dentre as principais garantias aos povos indgenas
estabelecidas no Estatuto do ndio e na Constituio
Federal esto:
M
Respeito aos usos, costumes e tradies dos povos
indgenas, o que signifca que nenhum povo poder ser
obrigado a modifcar seus hbitos;
M
Garantia do direito terra e garantia de proteo contra
a invaso de terceiros;
M
Usufruto exclusivo s comunidades indgenas dos
recursos naturais existentes em suas terras;
M
Tratamento penal diferenciado de acordo com o grau de
compreenso do ilcito cometido.
Est em tramitao no Congresso Nacional uma pro-
posta de um nova lei que modernize a forma como o Estado
brasileiro lida com os povos indgenas. Essa proposta, no
entanto, est parada h vrios anos.
Demarcao de Terras Indgenas
(Decreto Federal n 1775)
A demarcao de Terras Indgenas (TIs) regulamenta-
da pelo artigo 231 da Constituio Federal, pelo Estatuto do
ndio e pelo Decreto Federal n 1775/96. Os povos indgenas
tm direito originrio sobre as terras tradicionalmente
ocupadas, sendo estas compreendidas como aquelas ne-
cessrias sua reproduo fsica e cultural, ou seja, que
tenham rea e condies naturais adequadas moradia,
caa, pesca, agricultura, festas, cultos e outras atividades
tradicionalmente realizadas pelos povos indgenas.
As TIs so de propriedade da Unio, mas de posse ex-
clusiva do povo indgena respectivo, o que signifca que eles
no podem ser retirados de suas terras contra sua vontade
ou obrigados a dividi-las com terceiros. Para se declarar
uma rea como TI, necessria a criao de um grupo de
trabalho multidisciplinar pela Funai, que ir identifcar o
povo e delimitar a rea tradicionalmente ocupada (ver
Terras Indgenas, pg. 262).
Demarcao do Territrio Quilombola
Decreto Federal n 4887/03)
O processo de demarcao de terras de quilombos pare-
cido com o de TI, s que a propriedade da terra no da Unio,
mas da comunidade (propriedade coletiva). A delimitao e a
desapropriao sero realizadas pelo Incra, que deve garantir
comunidade rea sufciente para sua reproduo fsica e
cultural (ver Quilombolas, pg. 234).
Lei de Acesso a Recursos Genticos e
Conhecimentos Tradicionais Associados
(Medida Provisria n 2186)
A Medida Provisria n 2186 regulamenta o acesso ao
patrimnio gentico, condicionando-o prvia autorizao
do Conselho de Gesto do Patrimnio Gentico (CGEN) e,
quando se tratar de reas privadas ou terras indgenas, de
anuncia da comunidade. Sempre que esse acesso tiver
objetivo econmico, ou seja, resultar em algum produto ou
processo que possa ser colocado venda no mercado e gere
benefcios econmicos, deve ser assinado um Contrato de
Utilizao do Patrimnio Gentico, pelo qual so colocadas
condies para o acesso e garantida a repartio de bene-
fcios com as comunidades envolvidas e com a Unio.
Os conhecimentos tradicionais associados ao patrimnio
gentico tambm esto protegidos por essa legislao, pois
ela garante que o acesso s ser feito mediante anuncia
prvia dos detentores desse conhecimento e que estes tm
direito a exigir a repartio justa e eqitativa de benefcios
daqueles que vo se utilizar desses conhecimentos.
Lei de Crimes Ambientais
(Lei Federal n 9605/98)
Deve ser reconhecida como um marco no direito ambien-
tal brasileiro. Talvez seja a lei ambiental mais conhecida da po-
pulao em geral, embora pouco compreendida, e sua maior
inovao a possibilidade de responsabilizar criminalmente
L
E
G
I
S
L
A
O
B
R
A
S
I
L
E
I
R
A
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 487
LEGISLAO SOCIOAMBIENTAL
pessoas jurdicas. Isso signifca que empresas, sociedades e
at mesmo rgos governamentais podem ser condenados
criminalmente e sofrer sanes por alguma agresso ilegal
ao meio ambiente, coisa que antes no era permitida, por se
acreditar que apenas as pessoas fsicas poderiam ser objeto
de sano penal. Pela sistemtica anterior, quando uma
empresa cometia algum crime, era necessrio encontrar a
pessoa l dentro que teve participao direta, para puni-la
pessoalmente, o que gerava discusses infndveis sobre
qual a pessoa que efetivamente tinha poder para determinar
a ao e, portanto, ser punida. Agora a prpria empresa,
independentemente de quem pessoalmente ordenou a
prtica da ao criminosa, poder ser punida.
Os crimes contra o meio ambiente esto divididos de
acordo com os grandes temas e abordam crimes contra a
fauna, fora, ordenamento urbano e patrimnio cultural,
crime de poluio e contra a administrao ambiental. Essa
ltima categoria de crime tambm uma novidade da lei,
pois criminaliza condutas como a do funcionrio pblico que
emite licenas ambientais em desacordo com a legislao
ou que faz afrmaes enganosas em processos de licencia-
mento ambiental, de forma que os funcionrios dos rgos
de controle ambiental tambm podem ser responsabilizados
caso ajam contra os interesses da sociedade. A maior parte
dos crimes previstos na lei tem penas que variam de seis
meses a quatro anos de priso, alm de vrias penas alter-
nativas, como as restritivas de direto e prestao de servios
comunidade. Devido a essas peculiaridades, na grande
maioria dos casos no haver a necessidade de priso,
substituda por penas como multa e prestao de servios,
o que em muitos casos mais justo e til do que a priso.
No h nenhum tipo penal sujeito a priso inafanvel. A
lei disciplina tambm como os fscais dos rgos de controle
ambiental devem atuar diante de uma infrao e coloca
disposio destes alguns instrumentos destinados a impedir,
estancar ou recuperar o dano ambiental, como a interdio
das atividades de uma fbrica poluente.
Lei da Informao Ambiental
(Lei Federal n 10.650/03)
Trata do acesso pblico a informaes de relevncia am-
biental existentes nos rgos integrantes do Sisnama (ver
Poltica Nacional do Meio Ambiente, pg. 482). Isso
signifca que qualquer cidado ou organizao da sociedade
civil pode pedir aos rgos e entidades que cuidam do meio
ambiente acesso aos documentos, expedientes e processos
administrativos que tratem de matria ambiental, e esses
rgos esto obrigados a fornecer todas as informaes
ambientais que estejam sob sua guarda, em meio escrito,
visual, sonoro ou eletrnico, relativas aos seguintes assuntos:
qualidade do meio ambiente; polticas, planos e programas
potencialmente causadores de impacto ambiental; resulta-
dos de monitoramento e auditoria nos sistemas de controle
de poluio e de atividades potencialmente poluidoras, bem
como de planos e aes de recuperao de reas degradadas;
acidentes, situaes de risco ou de emergncia ambientais;
emisses de efuentes lquidos e gasosos, e produo de
resduos slidos; substncias txicas e perigosas; diversidade
biolgica; e organismos geneticamente modifcados.
Alm de facilitar o acesso de interessados a informa-
es ambientais, a lei tambm cria obrigaes aos rgos
ambientais de disponibilizar periodicamente, no respectivo
rgo, em local de fcil acesso ao pblico, informaes e
dados de interesse avaliao da qualidade ambiental.
Ao Civil Pblica ACP
(Lei Federal n 7347/85)
uma ferramenta jurdica disposio da sociedade
civil, do Ministrio Pblico e de alguns rgos de governo
para proteger os direitos difusos e coletivos, dentre os
quais se inclui o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Antes dela, no era possvel utilizar o Judicirio
para proteger o meio ambiente e nenhum outro interesse
difuso ou coletivo, pois os instrumentos processuais que
existiam at ento se prestavam apenas proteo de
direitos individuais. Aps o seu advento, tanto o Ministrio
Pblico quanto ONGs, diante de um caso de abuso contra o
meio ambiente, podem entrar com uma ao judicial para
exigir que o infrator seja ele uma pessoa, uma empresa
ou o poder pblico - paralise sua atividade, recupere o dano
provocado e indenize a sociedade dos prejuzos materiais
e morais por ele causados. A ACP no serve para proteger
apenas o meio ambiente, mas todo e qualquer direito de
natureza coletiva, ou seja, cuja titularidade seja de toda
a sociedade, indistintamente, como o caso do direito do
consumidor (ver Direito Socioambiental, pg. 236).
R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
I
D
A
D
E
P
O
R
D
A
N
O
S
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 488
LEGISLAO SOCIOAMBIENTAL
RESPONSABILIDADE
POR DANOS SOCIOAMBIENTAIS
JULIANA SANTILLI*
Que sanes/penalidades podem ser aplicadas a quem viola a legislao socioambiental?
Quem deve aplic-las?
*Promotora de Justia do Ministrio Pblico do DF e scia-fundadora do ISA
* juliana.santilli@superig.com.br
Quando as leis socioambientais no so cumpridas, trs
modalidades de sanes (penalidades) podem ser aplicadas:
administrativas, civis e penais. As trs esferas de responsabi-
lidade so independentes e a aplicao de uma penalidade
administrativa no impede que seja tambm imposta uma
penalidade civil ou penal, e vice-versa. As sanes podem
e devem ser cumuladas, salvo situaes especiais.
Responsabilidade administrativa
As sanes administrativas so impostas pela adminis-
trao, atravs de um processo administrativo que se inicia
com um auto de infrao lavrado pela fscalizao. Na rea
ambiental, as principais sanes administrativas so: multa,
apreenso de animais, produtos e subprodutos da fauna
e fora, instrumentos, equipamentos e veculos utilizados
na prtica da infrao, demolio e embargo de obra e
atividade, suspenso de venda e fabricao de produtos,
cancelamento de registros e licenas, perda de incentivos
fscais, proibio de contratar com a administrao pblica
ou acessar linhas de fnanciamento. So impostas principal-
mente pelos rgos ambientais.
As multas por infraes ambientais revertem ao Fundo
Nacional do Meio Ambiente, ao Fundo Naval e a fundos
ambientais estaduais e municipais. O valor mnimo (das
multas) R$ 50 e o mximo de R$ 50 milhes, variando
conforme a natureza e a gravidade da infrao, bem como
a reincidncia do infrator.
Os infratores autuados pela fscalizao tm o direito
de defesa assegurado, podendo contestar o auto de infrao
e recorrer de decises condenatrias.
M
I
R
I
A
M
&
W
I
G
O
L
D
Flagrante de desmatamento ilegal de araucrias, esquentado por um plano de manejo, Ponte Serrada (SC), 2002.
R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
I
D
A
D
E
P
O
R
D
A
N
O
S
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 489
LEGISLAO SOCIOAMBIENTAL
A HIDROVIA ARAGUAIA-TOCANTINS E OS XAVANTE
As medidas judiciais destinadas a impedir a implantao da Hidrovia Araguaia-Tocantins sem o cumprimento
das leis ambientais e de proteo aos povos indgenas envolveram diversos atores sociais e instrumentos proces-
suais. A primeira medida judicial foi proposta pela Comunidade Indgena Xavante, de Arees e Pimentel Barbosa
(MT), contra a Unio, o Ibama e a Cia. Docas do Par, que deu incio implantao da hidrovia, que atravessa
terras indgenas, sem a autorizao do Congresso Nacional e sem o prvio licenciamento ambiental. A ao
judicial (condenatria de obrigao de no fazer, de rito ordinrio) foi proposta com a assessoria dos advogados
do ISA e, em 16/06/1997, a Justia Federal de Mato Grosso concedeu a medida liminar requerida pela comunidade
indgena, determinando a imediata suspenso da implantao da hidrovia, fxando multa diria de R$ 100 mil por
descumprimento da ordem judicial. A ao judicial se fundamentou no fato de que as obras da hidrovia haviam sido
iniciadas antes da realizao dos estudos ambientais e da concesso das licenas ambientais, e sem a autorizao
do Congresso, que a Constituio exige para a explorao de recursos hdricos em terras indgenas. A ao pede
ainda indenizao pelos danos causados aos ndios Xavante e, caso a licena ambiental seja concedida, a previso
de medidas mitigadoras dos impactos socioambientais.
A Unio e a Cia. Docas recorreram da deciso, mas o Tribunal Regional Federal da 1 Regio manteve a proibio
das obras, embora tenha permitido a navegao tradicional que j se fazia na regio. Em 1999, a Cia. Docas do Par
apresentou novos estudos ambientais, mas um grupo de antroplogos que integrou a equipe tcnica responsvel
pelos estudos denunciou publicamente as supresses e manipulaes realizadas em seus relatrios. O Ministrio
Pblico Federal (MPF) ajuizou ento ao civil pblica contra a Cia. Docas e o Ibama, perante a Justia Federal
em Imperatriz (MA), obtendo medida liminar para impedir a realizao das audincias pblicas e suspender
o licenciamento ambiental. Um dos bilogos denunciou tambm adulteraes nos estudos de ictiofauna e a
Comunidade Indgena Xavante, com a assessoria dos advogados do ISA, ingressou com nova medida judicial, em
Cuiab, visando a suspenso, pela segunda vez, das audincias pblicas remarcadas e do licenciamento ambiental.
O MPF tambm ingressou com nova ao civil pblica em Goinia, tendo sido concedidas as medidas liminares
pleiteadas pelo MPF e pela Comunidade Indgena Xavante, em Cuiab e em Goinia.
Entretanto, em 21/10/2003, o juiz federal Jos Pires da Cunha, de Cuiab, proferiu sentena julgando improcedente
o pedido formulado pela Comunidade Indgena Xavante, na ao judicial proposta em 1997, sob o fundamento de que
se trata de iniciativa para obstar a expanso do transporte
fuvial, e colide-se frontalmente com os propsitos do
governo federal, tendentes satisfao da demanda
nesse setor. A Comunidade Indgena Xavante, assessorada
pelo ISA, interps o recurso de apelao, para reformar tal
sentena, mas o recurso ainda no foi julgado.
SAIBA MAIS Rocha, Ana Flvia (Org.). A defesa dos
direitos socioambientais no Judicirio. So Paulo: Insti-
tuto Socioambiental, 2003.
VEJA TAMBM Amaznia (pg. 83); Transporte (pg.
336); Licenciamento Ambiental (pg. 449).
R
O
S
A
G
A
U
D
I
T
A
N
O
/
S
T
U
D
I
O
R
Aldeia Xavante de Pimentel Barbosa (MT).
ZOOM
R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
I
D
A
D
E
P
O
R
D
A
N
O
S
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 490
LEGISLAO SOCIOAMBIENTAL
Podem tambm celebrar com os rgos pblicos ter-
mos de ajustamento de conduta, comprometendo-se a
adequar as suas atividades s exigncias legais.
Qualquer pessoa que constate alguma infrao pode
encaminhar representao aos rgos pblicos competentes
para apur-las. J as autoridades ambientais que tomem
conhecimento de infraes ambientais so obrigadas a pro-
mover a sua apurao, sob pena de co-responsabilidade.
Responsabilidade civil
Independentemente da imposio de alguma sano
administrativa, o poluidor (ou aquele que desenvolve algu-
ma atividade ou conduta lesiva aos bens socioambientais)
obrigado a indenizar ou reparar os danos causados. As
sanes civis e penais s podem ser impostas pelo Poder Ju-
dicirio, ao contrrio das sanes administrativas, impostas
pelos rgos administrativos.
Quando se trata de responsabilidade civil por danos am-
bientais, esta objetiva, o que signifca dizer que o agente
responsabilizado independentemente de ter provocado
os danos ambientais dolosamente (ou seja, propositada-
mente) ou culposamente (quer dizer, por imprudncia,
negligncia ou impercia). Para responsabiliz-lo, basta
comprovar que foi ele o autor de tal conduta ou atividade e
que os danos ambientais foram provocados por tal conduta
ou atividade.
O principal instrumento processual destinado a pro-
mover a reparao de danos socioambientais a ao civil
pblica, que pode ser proposta tanto pelo Ministrio Pblico
quanto pela Unio, pelos Estados e Municpios, bem como
ATUAO DO MINISTRIO PBLICO
O Ministrio Pblico uma instituio que tem autonomia funcional e administrativa, em relao tanto
ao Poder Judicirio como aos demais Poderes da Repblica. Os membros do Ministrio Pblico (Promotores de
Justia e Procuradores da Repblica) no tm qualquer vinculao hierrquica com os juzes e so independentes
no exerccio de suas funes.
Embora a atuao do Ministrio Pblico seja historicamente mais identifcada com a rea criminal, cresceu
muito o papel da instituio na rea socioambiental nos ltimos 20 anos.
Na rea ambiental, a Lei que instituiu a Poltica Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/81) j previa a
legitimidade do Ministrio Pblico para propor ao de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente.
Entretanto, foi s a partir da aprovao da Lei da Ao Civil Pblica (Lei 7.347/85) que o Ministrio Pblico passou
a dispor de um instrumento processual efcaz para a defesa de direitos coletivos. Tambm o Estatuto do ndio
(Lei 6.001) j previa, desde que foi editado (1973), que competiria ao Ministrio Pblico Federal promover as
medidas judiciais necessrias defesa dos territrios indgenas.
Cabe ao Ministrio Pblico no s promover aes criminais como tambm promover o inqurito civil e a ao
civil pblica, para a proteo do patrimnio pblico e social, do meio ambiente e de outros direitos coletivos.
Os membros do Ministrio Pblico Federal, que atuam perante a Justia Federal, so designados Procuradores
da Repblica e os membros do Ministrio Pblico Estadual e Distrital, que atuam perante a Justia dos Estados
e do DF, so designados Promotores de Justia. Compete Justia Federal julgar as causas que envolvam bens,
interesses ou servios da Unio. As causas que envolvem direitos indgenas so tambm processadas perante a
Justia Federal.
O Ministrio Pblico Federal (www.pgr.mpf.gov.br) divide atualmente as suas reas temticas de atuao
em Cmaras de Coordenao e Reviso, sendo que a 6 Cmara de Coordenao e Reviso trata de Comunidades
Indgenas e Minorias e a 4 Cmara trata de Meio Ambiente e Patrimnio Cultural. Vrios Ministrios Pblicos Esta-
duais criaram Centros de Apoio Operacional na rea ambiental (em So Paulo, consulte: www.mp.sp.gov.br).
R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
I
D
A
D
E
P
O
R
D
A
N
O
S
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 491
LEGISLAO SOCIOAMBIENTAL
COMO ENCAMINHAR DENNCIA/REPRESENTAO
AO MINISTRIO PBLICO:
Qualquer cidado pode representar ao Ministrio Pblico, com a fnalidade de denunciar atos lesivos ao
patrimnio socioambiental e pedir a atuao do rgo para apurar os danos (ou impedir que ocorram) e respon-
sabilizar os seus autores.
A forma mais indicada para representar ao Ministrio Pblico por escrito, embora as denncias possam ser
feitas tambm oralmente, diretamente ao membro da instituio (Promotor de Justia ou Procurador da Repblica,
conforme se trate do Ministrio Pblico Estadual ou Federal), que dever registr-las por escrito.
A representao deve indicar os fatos, da forma mais detalhada possvel, o local e condies em que ocorreram
e todas as suas circunstncias, alm do nome e endereo de seus responsveis, quando for possvel identifc-los.
Quanto mais precisos os fatos, mais rpida ser a sua apurao e a responsabilizao de seus autores. importante
tambm que o autor da representao apresente as provas que j tenha em mos (como vdeos, recortes de jornais,
fotografas, croquis etc.) e indique outras provas que possam ser obtidas pelo Ministrio Pblico (ex.: nome e endereo
de pessoas que conhecem os fatos e possam depor como testemunhas, pareceres e laudos tcnicos j elaborados por
rgos competentes e que possam ser requisitados pelo Ministrio Pblico) e, quando possvel, a avaliao dos danos
socioambientais. O autor da representao deve ainda indicar o seu nome, endereo e telefone, embora, quando h
ameaas e riscos de retaliaes, o Ministrio Pblico recebe denncias de pessoas que preferem no se identifcar.
O exemplo de representao abaixo (com nomes e endereos fctcios) pode ser dirigida tanto s Delegacias de Meio
Ambiente ou, onde no houver, s Delegacias Policiais mais prximas aos locais dos fatos, quanto ao Ministrio Pblico.
Sirvo-me desta para representar acerca dos fatos narrados abaixo, e requerer a sua apurao e a promoo da
responsabilidade de seus autores, nos termos da legislao socioambiental em vigor:
No dia 10/10/2003, cerca de dez funcionrios da empresa Madeirite Ltda. promoveram o desmatamento de
aproximadamente 200 m3 de vegetao natural situada ao longo do Rio Bonito, no interior da Reserva Biolgica Mata
Nativa, na cidade de Santo Antnio do Bom Jesus, no Estado de So Paulo.
Verifquei tal conduta porque passava pelo local no momento em que os funcionrios da Madeirite Ltda realizavam o
referido desmatamento dentro da unidade de conservao ambiental, e fui informado por seus funcionrios de que o proprietrio
da empresa o Sr. Carlos Eduardo da Silva, e de que a empresa tem sede na Av. do Contorno, n 214.
Estou anexando a esta representao fotos tiradas no local, que mostram os danos ambientais provocados pelo
referido desmatamento, bem como os nomes de duas pessoas que tambm presenciaram os fatos em questo e
podem depor como testemunhas:
1. Jos Carlos Pereira, com endereo na Rua Marab, 315;
2. Andr dos Santos, com endereo na Avenida dos Bandeirantes, 416.
Isto posto, requeiro a adoo das providncias cabveis a fm de apurar os fatos acima descritos e responsabilizar
os autores, e, desta forma, impedir a continuidade de conduta lesiva ao meio ambiente.
So Paulo, 17 de Maio de 2007
Carlos da Silva,
Rua Maria do Socorro, 312, apto. 201,
So Paulo-SP
Telefone: 6666-6666
R
E
S
P
O
N
S
A
B
I
L
I
D
A
D
E
P
O
R
D
A
N
O
S
S
O
C
I
O
A
M
B
I
E
N
T
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 492
LEGISLAO SOCIOAMBIENTAL
por autarquias (como o Ibama), empresas pblicas, funda-
es (como a Funai), sociedades de economia mista ou por
associaes. Qualquer cidado pode provocar a iniciativa do
Ministrio Pblico, fornecendo-lhe informaes sobre fatos
que possam ser objeto de ao civil pblica.
A ao civil pblica pode pedir a condenao em
dinheiro (ex.: pagamento de uma indenizao pelos da-
nos), o cumprimento de obrigao de fazer (ex.: realizar o
estudo prvio de impacto ambiental) ou de no fazer (ex.:
a suspenso de uma obra ou atividade). A indenizao em
dinheiro depositada no Fundo de Defesa dos Direitos
Difusos, que se destina reparao dos danos. Ela nunca
reverte em favor de quem props a ao.
A ao civil pblica s pode ser proposta por pessoa
jurdica (associao e os demais entes legitimados j cita-
dos). Os cidados podem, entretanto, propor ao popular,
visando anular ato lesivo ao patrimnio pblico, ao meio
ambiente ou ao patrimnio cultural.
Responsabilidade criminal
Muitas condutas lesivas aos bens socioambientais
so tambm consideradas crimes. Os crimes e as penas
aplicveis a estes so defnidos no Cdigo Penal e em ou-
tras leis penais especfcas, destacando-se a Lei de Crimes
Ambientais (Lei 9.605/98).
Em tais crimes, diz-se que a ao
penal pblica incondicionada, o que
signifca que qualquer cidado pode
representar ao Ministrio Pblico ou
autoridade policial, dando-lhe cincia
da ocorrncia de tais crimes, que envol-
vem bens de toda a coletividade.
So previstos: 1) crimes contra a
fauna; 2) crimes contra a fora, incluindo
danos a unidades de conservao am-
biental, incndios em forestas etc.; 3)
poluio (de qualquer natureza) e outros
crimes ambientais, tais como realizao
de atividades minerais sem licena am-
biental, produo e comercializao de
substncias txicas, construo, instalao e funcionamento
de estabelecimentos, obras ou servios poluidores sem licen-
a ambiental etc.; 4) crimes contra o ordenamento urbano
e o patrimnio cultural, incluindo pichao e graftao; 5)
crimes contra a administrao ambiental.
Os crimes podem ser dolosos (quando h a inteno de
praticar o crime) ou culposos (quando no h inteno, mas
ele ocorre por imprudncia, negligncia ou impercia do
agente), sendo os crimes dolosos apenados mais severamen-
te. Aos crimes ambientais podem ser impostas no apenas
penas de deteno ou recluso (priso), como tambm penas
restritivas de direitos, tais como: prestao de servios
comunidade (realizao de tarefas gratuitas junto a parques
e jardins pblicos), suspenso parcial ou total de atividades,
prestao pecuniria (pagamento em dinheiro vtima ou
entidade pblica ou privada com fm social, de importncia
fxada pelo juiz) e recolhimento domiciliar.
A responsabilidade criminal da pessoa jurdica (a
possibilidade de responsabilizar empresas pela prtica de
crimes ambientais) prevista na Constituio e na Lei de
Crimes Ambientais, quando o crime ambiental praticado
por deciso do seu representante ou rgo colegiado (ex.
Conselho de Diretores), no interesse ou benefcio da em-
presa. Entretanto, ainda h poucos casos de condenao de
empresas por crimes ambientais e muitos juristas resistem
em aceitar a possibilidade jurdica de que uma empresa
possa praticar crimes.
G
U
S
T
A
V
E
G
A
M
A
/
I
M
P
R
E
N
S
A
L
I
V
R
E
/
P
A
G
O
S
/
A
E
Vazamento de petrleo de dutos da Transpetro no Rio Guaec,
em So Sebastio, Litoral Norte paulista, fevereiro de 2004.
VEJA TAMBM Legislao Brasileira (pg. 481).
FRUNS E
CONFERNCIAS
INTERNACIONAIS
Conferncia Nacional do Meio Ambiente, pg. 494
Conferncias Internacionais, pg. 496
Fruns Social e Econmico, pg. 498
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 493
As conferncias internacionais, como a Rio-92, atendem ao propsito da ONU de
conseguir a cooperao entre pases para resolver problemas internacionais de
carter econmico, social, cultural, ambiental ou humanitrio. Este captulo mos-
tra, porm, que no s governos e representantes ofciais de pases articulam-se: a
sociedade civil tambm rene naes, ativistas e movimentos populares em busca de
solues alternativas ao capitalismo para os problemas do mundo, como o caso do
Frum Social Mundial. No Brasil, o governo j promoveu duas edies da Conferncia
Nacional do Meio Ambiente, em 2003 e 2005, na tentativa de subsidiar e legitimar
parte de suas polticas ambientais. Esses eventos reuniram milhares de pessoas de
diversos setores sociais para discutir temas como o desenvolvimento sustentvel. A
terceira conferncia acontece em 2008.
C
O
N
F
E
R
N
C
I
A
N
A
C
I
O
N
A
L
D
O
M
E
I
O
A
M
B
I
E
N
T
E
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
CONFERNCIAS NACIONAIS
494
CONFERNCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
PEDRO IVO DE SOUZA BATISTA*
Realizada a cada dois anos, a Conferncia Nacional do Meio Ambiente tem o objetivo
de apontar caminhos para defender e preservar o meio ambiente no Pas
*Diretor do Departamento de Cidadania e Responsabilidade Socioambiental da Secretaria
de Cidadania Ambiental e Articulao Institucional do MMA, coordenador da Conferncia
Nacional de Meio Ambiente e conselheiro do Conama
A PARTICIPAO DO JOVEM
RACHEL TRAJBER* E SORAIA SILVA DE MELLO**
* Coordenadora-geral de Educao Ambiental do Ministrio da Educao
** Consultora do PNUD (conferenciainfanto@mec.gov.br)
VOC SABIA?
M
A primeira Conferncia foi realizada
em 2003 e a segunda em 2006. Ao todo
participaram mais de 21 mil escolas e
9.500.000 pessoas.
A Conferncia Nacional Infanto-Juvenil pelo
Meio Ambiente, que tem como lema Vamos Cuidar
do Brasil, o espao dos adolescentes construrem
propostas transformadoras para o enfrentamento
dos desafios socioambientais do milnio. Essa inicia-
tiva, que envolve as escolas do ensino fundamental,
realizada pelos Ministrios da Educao e do Meio
Ambiente em parceria com Secretarias Estaduais e
Municipais de Educao, Coletivos Jovens de Meio
Ambiente, ONGs, Ibama, rgos de meio ambiente,
Desde 2003, o Governo Federal organiza a Conferncia
Nacional do Meio Ambiente (CNMA), na qual representan-
tes de todos os setores da sociedade, como comunidades
tradicionais e quilombolas, povos indgenas, comunidade
cientfica, ONGs ambientalistas, movimentos sociais,
sindicatos e empresrios so chamados a refetir sobre
o mundo a partir da sustentabilidade. Participam das
discusses, ainda, os poderes Executivo (em nvel federal,
estadual e municipal), bem como o Legislativo e o Judicirio.
O objetivo que, juntos, todos apontem as regras que seriam
as ideais para defender e preservar o meio ambiente para as
geraes de hoje e as futuras. E tambm sugerem as formas
de implement-las.
A CNMA acontece a cada dois anos, com a coordenao
do Ministrio do Meio Ambiente e sempre com o mesmo
lema: Vamos cuidar do Brasil. O tema, mais especfico,
varia em cada edio e depende da questo ambiental mais
premente no momento.
A I CNMA aconteceu em 2003 e teve como tema o
Fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente
(Sisnama). Cerca de 65 mil pessoas participaram das
conferncias municipais, regionais e estaduais. Durante a
Conferncia Nacional foram debatidas 4.151 propostas e
universidades e conta com o apoio de empresas. A
Conferncia fortalece espaos de debate nas escolas
de todo o Pas ao levantar questes sociais e ambien-
tais de cada comunidade, percebendo como elas se
relacionam com o Planeta. pensar e agir local e
globalmente. Todos podem ouvir a voz dos adoles-
centes, pois milhes de estudantes participam, no
presente, da construo de um futuro sustentvel
para sua comunidade, seu municpio, sua regio e
para o Brasil.
A Conferncia acontece em duas etapas: a Con-
ferncia de Meio Ambiente na Escola e a Conferncia
Nacional em Braslia. Em cada escola, os participantes
pesquisam e debatem as questes socioambientais,
assumem responsabilidades, definem aes, criam
um cartaz que traduz o compromisso coletivo e,
por fim, elegem um delegado ou delegada, entre
C
O
N
F
E
R
N
C
I
A
N
A
C
I
O
N
A
L
D
O
M
E
I
O
A
M
B
I
E
N
T
E
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 495
CONFERNCIAS NACIONAIS
ZOOM
A COM-VIDA uma nova forma de organizao que contribui para um dia-a-dia participativo, demo-
crtico, animado e saudvel, pro movendo o intercmbio entre a escola e a comunidade, com foco nas
questes socioambientais locais. Elas so articuladas pelos estudantes, com o apoio dos professores.
A idia surgiu como uma deliberao da I Conferncia Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente
para a criao de conselhos jovens de meio ambiente e a elaborao da Agenda 21 nas escolas brasileiras
(ver Agenda 21, pg. 497). A Com-vida colabora e soma esforos com outras organizaes da escola: o
Grmio Estudantil, a Associao de Pais e Mestres e o Conselho da Escola, trazendo a Educao Ambiental
para os projetos da escola. Esta iniciativa, que envolve as escolas do ensino fundamental, realizada
pelo Ministrio da Educao em parceria com Secretarias Estaduais e Municipais de Educao, Coletivos
Jovens de Meio Ambiente, ONGs e Universidades.
aprovadas 659 deliberaes. Em 2005, na II CNMA, o centro
das atenes foi o desenvolvimento sustentvel, abor-
dado na linha central Poltica Ambiental integrada e o Uso
dos Recursos Naturais. Naquela edio, participaram 86 mil
pessoas e foram aprovadas 881 deliberaes. A terceira fase
desse processo ser em 2008 e o Brasil inteiro ir discutir
e deliberar sobre a questo ambiental mais importante
atualmente em todo o mundo, as Mudanas Climticas.
Esse tempo entre uma conferncia e outra necessrio
para que as deliberaes tomadas nos eventos anteriores
sejam avaliadas e implementadas, quando possveis. Entre
as conferncias tambm so realizadas etapas preparatrias
(estaduais e municipais), onde a sociedade decide quem
(delegados) a representar na plenria nacional, momento
em que so apresentadas, debatidas e deliberadas as pro-
postas elaboradas em todo o Brasil.
Participam da plenria fnal, isto , tm direito a voto,
os delegados eleitos nas conferncias estaduais (sendo
50% de movimentos sociais e ONGs, 30% de empresrios e
20% de governos), delegados natos, ou seja, membros do
Conama, CNRH, Comisso Organizadora da Conferncia
e do Conselho Dirigente do MMA que rene Ministro,
secretrios e presidentes das entidades vinculadas. Tambm
elegem delegados s Comisses Tcnicas Tripartites Estadu-
ais e Conselhos Nacionais de Co-Gesto.
Para 2008, o desafo da Conferncia ser ajudar o
governo brasileiro a defnir qual a sua estratgia para
enfrentar as Mudanas Climticas que vm ocorrendo
em todo o Planeta e cujos efeitos negativos j so sen-
tidos por todos. O MMA est coordenando as estratgias
governamentais para o enfrentamento das Mudanas
Climticas em mbito nacional. Essa ao est em fase
de elaborao e exigir a articulao com outros setores
governamentais. O envolvimento da sociedade civil ser
de fundamental importncia para a busca de solues
concretas para este problema.
11 e 14 anos, que representar as idias do grupo.
A Conferncia Nacional rene delegaes de todos
os estados brasileiros com o objetivo de integrar as
idias vindas das escolas e elaborar uma Carta com
os compromissos e propostas dos adolescentes para
a construo de uma sociedade mais justa, feliz e
sustentvel.
SAIBA MAIS Com-vida Comisso de Meio
Ambiente e Qualidade de Vida na Escola
(http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/
pdf/educacaoambiental/comvida.pdf ); Rede
da Juventude pelo Meio Ambiente e Susten-
tabilidade (http://www.rejuma.org.br).
C
O
N
F
E
R
N
C
I
A
S
I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
FRUNS E CONFERNCIAS
496
CONFERNCIAS INTERNACIONAIS
SERGIO LEITO*
Os documentos assinados na Conferncia do Rio de Janeiro, em 1992, passaram a ser
referncia no tratamento de polticas socioambientais em todo o mundo
VOC SABIA?
M
A Eco-92 foi a maior reunio de chefes de
Estado e de governo que j ocorreu, contando com
a presena de mais de 118 governantes, entre eles
os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos.
M
Durante a Rio-92 mais de 15 mil ONGs do
mundo inteiro se reuniram para celebrar um pacto
em defesa da justia social e do meio ambiente.
M
O Frum Brasileiro de ONGs e Movimentos
Sociais para Meio Ambiente e Desenvolvimento
foi criado na Rio-92.
*Advogado, diretor de polticas pblicas do Greenpeace no Brasil.
* r.sergio.leitao@terra.com.br
SAIBA MAIS Viana, Gilney; Silva, Marina; Diniz,
Nilo (Orgs.). O desafo da sustentabilidade: um debate
socioambiental no Brasil. So Paulo: Fundao Per-
seu Abramo, 2001; Novaes, Washington. A dcada
do impasse: da Rio-92 Rio+10. So Paulo: Estao
Liberdade/Instituto Socioambiental, 2002.
VEJA TAMBM Desenvolvimento Sustentvel
(pg. 439); Acordos Internacionais (pg. 476).
Entre os propsitos da Organizao das Naes Unidas
(ONU) est o de conseguir a cooperao entre pases para
resolver os problemas internacionais de carter econ-
mico, social, cultural, ambiental ou humanitrio. Um dos
meios que utiliza para buscar alcanar este propsito a
realizao de conferncias sobre temas especfcos e de
importncia mundial, que lhe permitam uma avaliao
global das questes relacionadas ao assunto em tela,
identifcando os avanos j obtidos no seu tratamento,
os rumos a serem seguidos e os aperfeioamentos
necessrios, alm de pontos de consenso, divergncias,
polmicas e o devido mapeamento dos atores no cenrio
internacional.
Convocada pela Assemblia Geral da ONU, por meio
de Resoluo que lhe fxa os objetivos, cabe a um comit
preparatrio cuidar da organizao da Conferncia. A
participao nas Conferncias da ONU se d de forma
ampla, reunindo governos, organismos multilaterais e
representantes da sociedade civil previamente credenciados
perante instncias defnidas.
A importncia das conferncias para o tratamento
dos direitos socioambientais no plano internacional
indiscutvel. Basta ver que j na I Conferncia de Direitos
Humanos da ONU, realizada em Teer em 1968, fxou-se, a
idia de que a realizao plena dos direitos civis e polticos
s possvel com o gozo dos direitos econmicos, sociais e
culturais, que fcaria conhecida como a indivisibilidade dos
direitos humanos. Com as Conferncias de Meio Ambiente,
seguiram-se imensos avanos nos diversos temas que
colocariam a questo socioambiental defnitivamente na
pauta de um mundo moderno e preocupado com os efeitos
da globalizao econmica.
A primeira Conferncia das Naes Unidas sobre Meio
Ambiente ocorreu em Estocolmo, Sucia, em 1972, dela
resultando a criao do Programa das Naes Unidas para
o Meio Ambiente (Pnuma), alm de uma declarao inter-
nacional sobre o meio ambiente urbano.
Em 1992, realizou-se a segunda conferncia no Rio de
Janeiro, que fcaria conhecida como Rio-92 (ou Eco-92).
Dela resultou a assinatura da Declarao do Rio de Janeiro
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, da Conveno da
Diversidade Biolgica (CDB), da Declarao de Princpios das
Florestas, da Conveno-Quadro sobre Mudanas Climticas
e da Agenda 21. A Rio-92 foi a maior conferncia j realizada
pela ONU, atraindo para o Rio de Janeiro uma legio de
chefes de Estado e de governo, alm de personalidades
de todo o mundo, tendo elevado de uma vez por todas
categoria de prioridade internacional diversos temas do
C
O
N
F
E
R
N
C
I
A
S
I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
I
S
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 497
FRUNS E CONFERNCIAS
direito ambiental, alm da noo de desenvolvimento
sustentvel. Os parmetros fixados pelos documentos
assinados na Rio-92 passaram a servir de referncia no
tratamento de polticas socioambientais e encabeam a
agenda internacional ainda hoje.
Em 2002, realizou-se em Johannesburgo, frica do Sul,
a Cpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentvel, que
fcou conhecida como a Rio+10. Pensada para impulsionar
as diretrizes fxadas na Rio-92, avaliando os avanos e aper-
feioando os compromissos assumidos, a Rio+10 frustrou as
expectativas dos que esperavam maiores avanos, limitan-
do-se fxao de um plano de implementao contendo
metas genricas e sem previso de prazos para fazer valer
os acordos assinados no Rio de Janeiro.
AGENDA 21
A assinatura da Agenda 21 durante a Rio-92 um dos mais extensos e formais reconhecimentos dos direitos
socioambientais j registrados pelo Direito Internacional.
A Agenda 21 antes de tudo um documento ambicioso, contendo quatro sees, 40 captulos e mais de
cem programas, por meio dos quais os governos signatrios pretenderam estabelecer um plano de ao para o
desenvolvimento sustentvel global no sculo XXI. O documento, de natureza no obrigatria para os pases
que o assinaram, diz respeito a todas as reas do Planeta onde haja intercesso entre ambiente e desenvolvimento,
bem como grupos sociais afetados, dentre os quais mereceram um captulo exclusivo os povos indgenas e suas
comunidades. Incluem-se ali, com detalhes, os direitos e responsabilidades desses povos e comunidades frente
s legislaes nacionais.
O documento, alm de tratar dos mais variados temas como demografa, sade, lixo, poluio, saneamento,
transportes e energia, ainda recomenda que os pases desenvolvidos arquem com boa parte dos custos da imple-
mentao das linhas de ao fxadas pela Agenda 21, via o aumento da contribuio que concedem aos pases
em desenvolvimento, que passaria de 0,36% do seu PIB para 0,70%.
De l para c, infelizmente, deu-se o contrrio. A contribuio que girava em torno de 58 bilhes de dlares anuais
ao tempo da Rio-92, est agora por volta de 56 bilhes de dlares, ou 0,22% do PIB dos pases desenvolvidos.
O documento tambm recomenda que cada pas elabore a sua Agenda 21. A construo da Agenda 21
brasileira comeou em 1997 e terminou em 2002, tendo fcado a cargo do Ministrio do Meio Ambiente (MMA),
envolvendo mais de 40 mil participantes em todo o Pas. No mbito do MMA, compete a Comisso de Polticas
de Desenvolvimento Sustentvel, com 34 integrantes, sendo metade da sociedade civil e a outra do governo, a
tarefa de planejar e implementar a Agenda 21 brasileira. Ela se compe de dois documentos, o primeiro intitulado
Resultado da Consulta Nacional, que descreve o processo de discusso do documento, apresentando os resultados
obtidos, e o segundo de Aes Prioritrias, contendo uma plataforma das 21 aes cuja a implementao so
consideradas como inadiveis para dar conta do desafo da nossa sustentabilidade.
Entre essas aes esto relacionadas, por exemplo, a promoo da agricultura sustentvel, a preservao e
melhoria da qualidade da gua nas bacias hidrogrfcas, a universalizao do saneamento ambiental, o incentivo
ao consumo sustentvel para combater a cultura do desperdcio e a implantao de boas prticas de governana,
que refore o equilbrio de poder e de controle mtuo entre a Unio, os Estados e os Municpios, consolidando
a democracia partipativa.
SAIBA MAIS Novaes, Washington. Agenda 21. In: Trigueiro, Andr (Coord.). Meio ambiente no sculo XXI.
Rio de Janeiro: Sextante, 2003.
F
R
U
N
S
S
O
C
I
A
L
E
E
C
O
N
M
I
C
O
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
FRUNS E CONFERNCIAS
498
como um espao permanente de busca e construo de
alternativas para construir uma globalizao solidria,
que respeite os direitos humanos, bem como os de todos
os cidados e cidads em todas as naes e o meio am-
biente, apoiada em sistemas e instituies internacionais
democrticos a servio da justia social, da igualdade e
da soberania dos povos.
Desde ento, o Frum Social Mundial organizado
por um conjunto de oito organizaes que integram a
sua secretaria, tendo sido definido que os encontros
do Frum ocorrero alternadamente no Brasil e em
outros pases que ofeream condies para sedi-lo. A
operacionalizao das atividades se d a partir da sua
Secretaria Executiva, localizada na cidade de So Paulo,
alm de contar com um Conselho Internacional, a quem
cabe discutir os seus rumos.
Alternncia
Em 2002 e 2003, o Frum Social Mundial ocorreu
em Porto Alegre, tendo iniciado a alternncia em 2004,
quando foi sediado pela ndia. Em 2005, volta mais uma
vez para Porto Alegre. Em 2006, tomou-se a deciso de
desmembr-lo em trs centros diferentes: Venezuela,
Mali e Paquisto. Voltou a ser unificado em 2007, no
Qunia. No seu primeiro encontro, o Frum conseguiu
reunir 20 mil pessoas. Em 2002, 60 mil, em 2003, 100
mil e em 2004, 70 mil. Ou seja, no seu segundo ano o
Frum j estava reunindo o triplo de participantes do
primeiro, num evento do qual participam personalidades
e organizaes de todo o mundo.
O Frum Social Mundial, com o lema Um Outro
Mundo Possvel, tem servido para reanimar o espao
de construo das utopias e alternativas, apagado com
o fim do socialismo do Leste Europeu e com a queda da
Unio Sovitica, experincias antes imaginadas como as
solues para um mundo melhor.
FRUNS SOCIAL E ECONMICO
SERGIO LEITO*
Criado como contraponto ao Frum Econmico Mundial, o Frum Social Mundial
busca alternativas globalizao econmica vigente
SAIBA MAIS Frum Social Mundial (www.foru-
msocialmundial.org.br); Whitaker, Francisco. F-
rum Social Mundial: origens e expectativas. Cor-
reio da Cidadania, So Paulo, n. 222, 2-9/12/2000
(www.correiocidadania.com.br); Abong (www.
abong.org.br).
*Advogado, diretor de polticas pblicas do Greenpeace no Brasil
* r.sergio.leitao@terra.com.br
A sociedade civil organizada, nos diversos pases,
a partir do final dos anos 1990, iniciou um processo de
articulao mundial para se contrapor ao modelo econ-
mico e social praticado pelo capitalismo. O marco dessa
resistncia, cujo pice est no grande protesto realizado
em 1999, na cidade de Seattle, EUA, contra decises da
Organizao Mundial do Comrcio (OMC). A partir da,
sucederam-se diversas manifestaes e atos contra o
Frum Econmico Mundial, sediado em Davos, Sua. Esse
evento rene, desde 1970, grandes empresrios e dirigen-
tes econmicos para discutir o desenvolvimento mundial
sob o prisma capitalista e, por esta razo, tornou-se um
smbolo de protesto da resistncia globalizada.
nesse contexto que foi criado o Frum Social Mundial,
a partir de iniciativas de organizaes brasileiras. Progra-
mado para ocorrer sempre em um pas do Terceiro Mundo
e no mesmo perodo do Frum de Davos, tem como objetivo
reunir diversas naes, ativistas e lderes de movimentos
populares em busca de solues, longe das propostas capi-
talistas, para os problemas socioeconmicos do mundo.
Porto Alegre
O I Frum Social Mundial ocorreu em Porto Alegre
(RS), de 25 a 30 de janeiro de 2001, tendo os seus
organizadores definido-o como um espao de debate
democrtico de idias, aprofundamento de reflexes,
formulao de propostas, troca de experincias e arti-
culao de movimentos sociais, redes, ONGs e outras
organizaes. Na ocasio, o Frum reunido proclamou-se
C
A
L
E
N
D
R
I
O
P
E
R
M
A
N
E
N
T
E
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 499
CALENDRIO PERMANENTE
a) ANOS: 1925 a 2064
1925 1953 1981 2009 2037
1926 1954 1982 2010 2038
1927 1955 1983 2011 2039
1928 1956 1984 2012 2040
1929 1957 1985 2013 2041
1930 1958 1986 2014 2042
1931 1959 1987 2015 2043
1932 1960 1988 2016 2044
1933 1961 1989 2017 2045
1934 1962 1990 2018 2046
1935 1963 1991 2019 2047
1936 1964 1992 2020 2048
1937 1965 1993 2021 2049
1938 1966 1994 2022 2050
1939 1967 1995 2023 2051
1940 1968 1996 2024 2052
1941 1969 1997 2025 2053
1942 1970 1998 2026 2054
1943 1971 1999 2027 2055
1944 1972 2000 2028 2056
1945 1973 2001 2029 2057
1946 1974 2002 2030 2058
1947 1975 2003 2031 2059
1948 1976 2004 2032 2060
1949 1977 2005 2033 2061
1950 1978 2006 2034 2062
1951 1979 2007 2035 2063
1952 1980 2008 2036 2064
b) MESES: janeiro a dezembro
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 9 2
5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
0 3 3 0 2 5 0 3 6 1 4 6
2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1 4 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
6 2 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
INSTRUES
Para saber, por exemplo, em que dia da semana caiu 22 de abril de 1994, proceda da seguinte maneira: procure na tabela a (anos) o ano
de 1994 e siga para a tabela b (meses), em linha reta, at encontrar o nmero que est na coluna de abril (ms 4). Some o dia procurado
22 ao valor encontrado (5). Teremos como resultado 27, que corresponde na tabela c (dias da semana) sexta-feira.
c) DIAS da semana
DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
36 37
C
A
L
E
N
D
R
I
O
P
E
R
M
A
N
E
N
T
E
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
CALENDRIO PERMANENTE
500
DATAS IMPORTANTES
Janeiro
1 Dia Mundial da Paz; Incio da piracema na regio de Maraj (PA)
6 Dia de Reis
8 Dia do Fotgrafo
11 Dia do Controle da Poluio por Agrotxicos
Fevereiro
2 Dia de N. Sra. De Navegantes, Porto Alegre (RS); Dia de N. Senhor
do Bonfm, Salvador (BA); Dia de Iemanj
22 Dia da Criao do Ibama
28 Final da piracema nas Bacias Paraguai, Paran, Jar e Tocantins-Gurupi
Maro
1 Dia do Turismo Ecolgico
5 Dia do Consumidor
8 Dia Internacional da Mulher
19 Dia da Escola
21 Dia Mundial Florestal; Incio do Outono
22 Dia Mundial da gua
23 Dia da Meteorologia
Abril
7 Dia Mundial da Sade
15 Dia da Conservao do Solo
19 Dia do ndio
21 Dia da Latinidade; Feriado nacional: Tiradentes
22 Dia da Terra; Descobrimento do Brasil
26 Dia Mundial das Naes
28 Dia da Educao; Dia da Caatinga
30 Final da piracema na regio de Maraj (PA)
Maio
1 Dia Internacional dos Trabalhadores
3 Dia do Solo; Dia do Pau-Brasil
22 Dia do Apicultor; Dia Mundial da Biodiversidade
25 Dia do Trabalhador Rural
27 Dia da Mata Atlntica
Junho
1 a 8 Semana Mundial do Meio Ambiente
3 Aniversrio da Rio-92
5 Dia Mundial do Meio Ambiente; Dia da Ecologia
8 Dia dos Oceanos
13 Dia de Santo Antnio
17 Dia Mundial de Luta Contra a Desertifcao e a Seca
21 Incio do Inverno
24 Dia de So Joo
28 Incio do festival folclrico de Parintins (AM), at dia 30
29 Dia do Pescador; Dia de So Pedro
Julho
4 Dia do Cooperativismo
12 Dia do Engenheiro Florestal
13 Dia do Engenheiro Sanitarista
14 Dia Internacional da Liberdade
17 Dia de Proteo das Florestas
Agosto
11 Dia do Estudante
14 Dia do Combate Poluio Industrial
19 Dia Internacional da Fotografa
22 Dia do Folclore
24 Dia da Infncia
27 Dia da Limpeza Urbana
29 Dia Nacional de Combate ao Fumo
Setembro
3 Dia do Bilogo
5 Dia da Amaznia
7 Dia da Ptria; Feriado Nacional: Independncia do Brasil
8 Dia Internacional da Alfabetizao
9 Dia do Veterinrio
10 Dia da Imprensa
11 Dia do Cerrado
16 a 22 Campanha na Cidade Sem Meu Carro; Dia Mundial da Limpeza do
Litoral (3 sbado do ms)
21 Dia da rvore; Incio da Primavera
21 a 27 Semana Nacional da Fauna
Outubro
2 Dia Nacional do Habitat
4 Dia do Patrono da Ecologia (So Francisco de Assis); Dia dos Animais
4 a 10 Semana de Proteo aos Animais; Crio de Nazar (PA)
(2 domingo do ms)
12 Dia de N. Sra. Aparecida; Dia das Crianas; Dia do Mar;
Dia do Engenheiro Agrnomo
15 Dia do Professor; Dia do Educador Ambiental
16 Dia Mundial da Alimentao
25 Dia Internacional Contra a Explorao da Mulher
Novembro
1 Incio da piracema nos Rios Paraguai, Paran, Jar e Tocantins-Guarupi
1 e 2 Festa de Padre Ccero, Juazeiro do Norte (CE)
3 Incio da piracema na Bacia do Rio Paraguai
5 Dia da Cultura e da Cincia
9 Dia do Urbanismo
20 Dia Nacional da Conscincia Negra
22 Dia da Msica
23 Dia do Rio
30 Dia do Estatuto da Terra
Dezembro
10 Declarao Universal dos Direito Humanos; Dia dos Povos Indgenas
14 Dia do Engenheiro de Pesca
21 Incio do Vero
22 Morte de Chico Mendes
29 Dia Mundial da Biodiversidade
CAMPANHAS
Sejam grandes mudanas de paradigmas como o reconhecimento do direito a
um meio ambiente ecologicamente equilibrado ou da funo social e ambiental
da propriedade, presentes na Constituio Federal ou medidas pontuais como
a proibio da construo da Barragem de Tijuco Alto no Rio Ribeira de Iguape, em
So Paulo as conquistas socioambientais sempre foram precedidas de campanhas
de conscientizao e mobilizao popular.
Capitaneadas por lideranas locais, comunidades ameaadas de perder um bem ou
direito ou instituies que agregam pessoas por um interesse comum, as campanhas
so um poderoso meio de participao e transformao da sociedade.
Nas pginas a seguir, encontra-se uma srie de campanhas socioambientais escolhi-
das pela atualidade e representatividade, referentes a muitos dos temas abordados
neste Almanaque, como consumo responsvel, proteo da biodiversidade e direitos
coletivos. So campanhas informativas, de conscientizao e mobilizao, atravs
das quais todos podem exercer sua cidadania, com aes diretas ou apenas ajudando
a divulgar. Escolha a sua!
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 501
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
CAMPANHAS
502
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 503
CAMPANHAS
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
CAMPANHAS
504
patrocnio:
ESCNDALO
DO MENSALO
MFIA DAS
AMBULNCIAS
ESCNDALO
DO ORAMENTO
realizao: CORRUPO S.A.
Ou o Brasil acaba com a Corrupo ou a Corrupo acaba com o Brasil.
Se os nmeros da corrupo no Brasil fossem nmeros de uma empresa,
ela seria uma das maiores corporaes do mundo.
Para voc ter uma idia, a corrupo movimenta aproximadamente
R$ 380 bilhes por ano. Dinheiro que poderia estar sendo investido em sade,
educao, numa sociedade mais justa. R$ 380 bilhes que deveriam
estar contribuindo para o crescimento do pas.
Por isso, se voc empresrio assine o
Pacto Empresarial Pela Integridade e Contra a Corrupo.
Se voc consumidor apie as empresas que assinaram o Pacto.
No vamos deixar a corrupo acabar com o Brasil.
www.empresalimpa.org.br
F
O
T
O
:
C
A
R
L
O
S
M
E
S
Q
U
I
T
A
/
A
J
B
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 505
CAMPANHAS
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
CAMPANHAS
506
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 507
CAMPANHAS
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
CAMPANHAS
508
O lixo acumulado na Baa de Guanabara refete o que acontece em toda a sua bacia
hidrogrfca e representa os desafos que, governos e sociedade, tm de enfrentar para
a proteger o ambiente. O Instituto Baa de Guanabara (IBG), fel misso de pensar e
agir de forma a comprometer a sociedade com o desenvolvimento sustentvel da Baa de
Guanabara, desde sua fundao h 14 anos, atua em educao, produo e divulgao
de informao e tambm em fruns e conselhos colaborando para a proteo das guas
e das forestas. Esturio natural de dezenas de rios que atravessam os 16 municpios
localizados ao seu redor, com nove milhes de habitantes, a Baa de Guanabara uma
das imagens brasileiras mais conhecidas no exterior.
Sua limpeza refetir tambm a melhoria da qualidade de vida dos
moradores do seu entorno e ser motivo de orgulho para todos ns!
Participe:
www.baiadeguanabara.org.br
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 509
CAMPANHAS
Contato: www.megajuda.org.br
Tel.: (11) 3660-0911
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
CAMPANHAS
510
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 511
CAMPANHAS
A burocracia
mata a natureza.
A luta pela aprovao
da Lei da Mata Atlntica
durou 14 anos.
E acredite: o trabalho
est apenas comeando.
Exija que a Lei no fique
s no papel. Participe.
Acesse www.sosma.org.br
26793_160x230
Cyan Magenta Yellow Black
Tuesday, June 12, 2007 11:28:51 PM
OS: 26793
Agncia: FNAZCA
Operador: Barreira Scanner: Fornecido
Tipo de Prova: Chromedot
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
CAMPANHAS
512
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 513
CAMPANHAS
SOS RIO PELOTAS
O rio Pelotas fca na divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e o principal
afuente do rio Uruguai. um rio extremamente importante para a conservao da biodiversidade
e tambm para a cultura e a histria da populao desses dois estados do Sul do Brasil. O lugar foi
considerado pelo Ministrio do Meio Ambiente como uma das reas prioritrias para a conservao
da biodiversidade brasileira. O rio e seu entorno esto extremamente ameaados. Em seu leito j
foram construdas trs hidreltricas: It, Machadinho e Barra Grande. Esta ltima, responsvel pela
extino da natureza da bromlia Dychia distachya. O que restou do rio e sua grande biodiversidade
est ameaado por uma quarta hidreltrica, a de Pai Quer.
Ajude a salvar o Rio Pelotas e suas forestas.
Participe da campanha pela criao do Corredor do Rio Pelotas,
uma Unidade de Conservao que garantir a proteo
desta importante rea para a biodiversidade brasileira.
http://www.apremavi.org.br/mobilizacao/sos-rio-pelotas
Foto: Miriam Prochnow
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
CAMPANHAS
514
O Vale do Ribeira, localizado entre o sul do estado de So Paulo e norte do Paran,
declarado Patrimnio Natural da Humanidade em 1999, contm mais de 2,1 milhes de hectares
de forestas 21% dos remanescentes de Mata Atlntica de todo o Pas ,
150 mil hectares de restingas e 17 mil de manguezais.
Toda essa riqueza ambiental, no entanto, est ameaada pelo projeto de construo de
4 usinas hidreltricas ao longo do rio Ribeira de Iguape. Se construdas, as barragens inundaro
permanentemente uma rea de aproximadamente 11 mil hectares, incluindo cavernas, Unidades de
Conservao, cidades, terras de quilombos e de pequenos agricultores, alm de alterar signifcativamente o
regime hdrico do rio, o que traria prejuzos difceis de mensurar. Um dos projetos de construo
de hidreltrica no rio Ribeira, o da usina de Tijuco Alto, vem sendo licenciado desde 2004 pelo Ibama.
Em julho passado Tijuco Alto foi objeto de audincias pblicas que reunram milhares de
pessoas preoucupadas com os impactos socioambientais do empreendimento.
Participe da Campanha e envie um protesto ao diretor de Licenciamento Ambiental do Ibama,
com cpia para o presidente da Repblica, ministra do Meio Ambiente e demais autoridades.
Acesse www.socioambiental.org/inst/camp/Ribeira/participe
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 515
CAMPANHAS
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
CAMPANHAS
516
WWW.MST.ORG.BR
www.alternet.com.br/bionatur/
DIRETRIO
Este diretrio traz uma seleo de instituies que trabalham diretamente com os
assuntos abordados neste Almanaque. Com dados atualizados at agosto de 2007,
a relao no tem a pretenso de ser completa, mas uma fonte representativa de
busca de informaes relativas aos temas socioambientais. A lista de entidades
est dividida, inicialmente, em Planeta Terra, Amrica Latina e Brasil. Neste ltimo,
inclumos as organizaes da sociedade civil e os centros de pesquisa e acadmicos
com atuao nacional, as organizaes multilaterais, rgos governamentais fe-
derais e rgos governamentais estaduais para cada um dos Estados brasileiros,
discriminando os ambientes presentes em cada um. Os conselhos, embora sejam
colegiados, foram includos junto aos rgos governamentais. A fnalidade facili-
tar a obteno de informao ou at o encaminhamento de alguma denncia. Pelo
mesmo motivo, inserimos as organizaes da sociedade civil e centros de pesquisa
e acadmicos com atuao direcionada a uma determinada regio ou bioma nos
ambientes em que atuam: Amaznia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlntica, Pampa,
Pantanal e Zona Costeira.
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 517
Planeta Terra, pg. 518
Amrica Latina, pg. 519
Brasil, pg. 519
Amaznia, pg. 525
Caatinga, pg. 527
Cerrado, pg. 528
Mata Atlntica, pg. 530
Pampa, pg. 531
Pantanal, pg. 531
Zona Costeira, pg. 532
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
DIRETRIO
518
PLANETA TERRA
Organizaes da Sociedade Civil
Amnesty International International Secretariat - 1 Easton Street,
London, WC1X 0DW, Inglaterra. Tel.: (44 20) 7413 5500; Fax: (44 20)
79561157; www.amnesty.org
Conservation International (CI) 2011 Crystal Drive, Suite 500,
Arlington, VA 22202, EUA. Tel.: (703) 341-2400; www.conservation.org
(ver Brasil, Conservao Internacional CI Brasil)
Cultural Survival 215 Prospect Street, Cambridge, MA 02139, EUA. Tel.:
(617) 441 5400; culturalsurvival@cs.org; www.cs.org
Environmental Defense 257 Park Avenue South, New York, NY 10010,
EUA. Tel.: (212) 505-2100; Fax: (212) 505-2375 ; members@environmen-
taldefense.org; www.environmentaldefense.org
Forest Stewardship Council (FSC International) Charles-de-Gaulle
5, 53113 Bonn, Alemanha. Tel.: (49 228) 367 66 0; fsc@fsc.org; www.fsc.org
(ver Brasil, Conselho Brasileiro de Manejo Florestal FSC Brasil)
Frum Social Mundial Rua General Jardim 660, 7 andar, Sala 72,
01223-010, So Paulo, SP, Brasil. Tel.: (11) 3258 8914; fsminfo@forumso-
cialmundial.org.br; www.forumsocialmundial.org.br
Friends of the Earth International PO Box 19199, 1000 GD Amsterdam,
Holanda. Tel.: (31 20) 622 1369; www.foei.org (ver Amaznia, Amigos da
Terra Amaznia Brasileira; Mata Atlntica, Ncleo Amigos da Terra Brasil)
Greenpeace International Ottho Heldringstraat 5, 1066 AZ Amster-
dam, Holanda. Tel.: (31 20) 7182000; supporter.services@int.greenpeace.
org; www.greenpeace.org (ver Brasil, Greenpeace Brasil)
International Institute for Environment and Development (IIED)
3 Endsleigh Street, London, WC1H 0DD, Inglaterra. Tel.: (44 0 20) 7388
2117; info@iied.org; www.iied.org
International Rivers Network (IRN) 1847 Berkeley Way, Berkeley, CA
94703, EUA. Tel.: (1 510) 848 1155; info@irn.org; www.irn.org
IUCN - The World Conservation Union Rue Mauverney 28, Gland,
1196, Sua. Tel.: (41 22) 999 0000; www.iucn.org
Oilwatch Secretariat 13, Agudama Ave. D-line, P.O. Box 13708, Port
Harcourt, Nigria. Tel.: (234 84) 23 6365; keania@oilwatch.org; www.
oilwatch.org
Rainforest Foundation Norway Grensen 9B, Oslo, Noruega. Tel.: (47)
23 10 9500; rainforest@rainforest.no; www.rainforest.no
Rainforest Foundation UK Imperial Works, 2nd foor, Perren Street,
London NW5 3ED, Inglaterra. Tel.: (44 20) 7485 0193; www.rainfores-
tfoundationuk.org
Rainforest Foundation US 32 Broadway, Suite 1614, New York, NY 10004,
EUA. Tel.: (212) 431 9098; rfny@rfny.org; www.rainforestfoundation.org
Social Watch Jackson 1136, Montevideo 11200, Uruguai. Tel.: (598 2)
419 6192; socwatch@socialwatch.org; www.socwatch.org (veja no site,
The Third World Institute; ver Brasil, Ibase)
Survival International 6 Charterhouse Buildings, London, EC1M 7ET,
Inglaterra. Tel.: (44 20) 7687 8700; info@survival-international.org; www.
survival-international.org
The Nature Conservancy (TNC) 4245 North Fairfax Drive, Suite 100,
Arlington, VA 22203-1606, EUA. Tel.: (703) 841 4850; http://nature.org
(ver Brasil, TNC Brasil)
World Resources Institute (WRI) 10 G Street, NE (Suite 800),
Washington, DC 20002, EUA. Tel.: (202) 729 7600; rspeight@wri.org;
www.wri.org
Worldwatch Institute 1776 Massachusetts Ave., N.W., Washington,
D.C. 20036-1904, EUA. Tel.: (202) 452 1999; worldwatch@worldwatch.
org; www.worldwatch.org
WWF International Av. du Mont-Blanc, 1196 Gland, Sua. Tel.: (41 22)
364 91 11; www.panda.org (ver Brasil, WWF-Brasil)
Organizaes Multilaterais
European Commission Rue de la Loi 200, 1040, Brussel, Blgica; www.
europa.eu.int/comm/index_pt.htm
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Itlia. Tel.: (39) 06 57051;
fao-hq@fao.org; www.fao.org
Global Environment Facility (GEF) 1818 H Street, NW, Washington,
DC 20433, EUA. Tel.: (202) 473 0508; secretariat@thegef.org; www.
gefweb.org
International Labour Organization (ILO) 4, route des Morillons,
CH-1211, Geneva 22, Sua. Tel.: (41 22) 799 6111; ilo@ilo.org; www.ilo.
org (ver Brasil, Organizao Internacional do Trabalho OIT Brasil)
International Tropical Timber Organization (ITTO) International
Organizations Center, 5th Floor Pacifco - Yokohama 1-1-1, Minato-Mirai,
Nishi-ku, Yokohama, 220-0012, Japo. Tel.: (81 45) 223 1110; itto@itto.
or.jp; www.itto.or.jp
Secretariat of the Convention on Biological Diversity 413 Saint
Jacques Street, Suite 800, Montreal, Quebec, Canada, H2Y 1N9. Tel.: (1 514)
288 2220; secretariat@biodiv.org; www.biodiv.org
United Nations Development Programme (UNDP) One United
Nations Plaza, New York, NY, 10017, EUA. Tel.: (1 212) 906 5000; www.
undp.org (ver Brasil, Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento
Pnud Brasil)
United Nations Educational, Scientifc and Cultural Organization
(Unesco) 7, Place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, Frana. Tel.: (33 0 1)
45 68 1000; bpi@unesco.org; www.unesco.org (ver Brasil, Organizao das
Naes Unidas para a Educao, a Cincia e a Cultura - Unesco Brasil)
United Nations Environment Programme (UNEP) United Nations
Avenue, Gigiri, PO Box 30552, 00100, Nairobi, Qunia. Tel.: (254 20) 7621
234; unepinfo@unep.org; www.unep.org (ver Brasil, Programa das Naes
Unidas para o Meio Ambiente - Pnuma Brasil)
World Bank 1818 H Street, N.W., Washington, DC 20433, EUA. Tel.: (202)
473 1000; www.worldbank.org (ver Brasil, Banco Mundial)
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 519
DIRETRIO
AMRICA LATINA
Organizaes da Sociedade Civil
Accin por la Biodiversidad Gianone 195 (1727), Marcos Paz, Buenos
Aires, Argentina. Tel.: (54 220) 477 1165; info@biodiversidadla.org; www.
biodiversidadla.org
Amazon Alliance 1367 Connecticut Ave., NW Suite 400, Washington,
DC 20036, EUA. Tel.: (1 202) 785 3334; amazon@amazonalliance.org;
www.amazonalliance.org
Coalizo Rios Vivos Rua 14 de julho 3.169, Centro, 79002-333, Campo
Grande, MS, Brasil. Tel.: (67) 3324 3230; ecoa@riosvivos.org.br; www.
riosvivos.org.br
Coordinadora de las Organizaciones Indgenas de la Cuenca
Amaznica (Coica) Calle Luis Beethoven 47-65 y Capitn Rafael
Ramos, Quito, Equador. Tel.: (593 2) 240 7759/281 2098; com@coica.
org; www.coica.org
Fundacin Gaia Amazonas Cra. 4 26B-31, Bogot D.C., Colmbia.
Tel.: (57-1) 281 4925/341 4377; info@gaiaamazonas.org; www.gaiaa-
mazonas.org
Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) Apartado
Postal 10081-1000, San Jos de Costa Rica. Tel.: (506) 234 04 04; instituto@
iidh.ed.cr; www.iidh.ed.cr
Organizaes Multilaterais
Comisso Interamericana de Direitos Humanos da Organizao
dos Estados Americanos (CIDH/OEA) 1889 F Street, N.W., Washing-
ton, D.C., 20006, EUA. Tel.: (202) 458 6002; cidhoea@oas.org; www.oas.
org/OASpage/humanrights.htm
Organizao do Tratado de Cooperao Amaznica (OTCA) SHIS
QI5, Conj 16, Casa 21, Lago Sul, 71615-160, Braslia, DF. Tel.: (61) 3248
4119/4132; imprensa@otca.org.br; www.otca.org.br
BRASIL
Redes da Sociedade Civil
Associao Brasileira de Organizaes No Governamentais
(Abong) Rua General Jardim 660, 7 andar, Vila Buarque, 01223-010, So
Paulo, SP. Tel.: (11) 3237 2122; abong@uol.com.br; www.abong.org.br
Frum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Desenvolvi-
mento e Meio Ambiente (FBOMS) SCS Quadra 8, Bloco B-50, Sala 105,
Edifcio Venncio 2000, 70333-900, Braslia, DF. Tel.: (61) 3033 5535/5545;
coordenacao@fboms.org.br; www.fboms.org.br
Rede Brasil sobre Instituies Financeiras Multilaterais SCS Qua-
dra 8, Ed. Venncio 2000, Bloco B-50, Sala 415/417, 70333-970, Braslia, DF.
Tel.: (61) 3321 6108; rbrasil@rbrasil.org.br; www.rbrasil.org.br
Rede Brasileira Pela Integrao dos Povos (Rebrip) Rua das
Palmeiras 90, Botafogo, 22270-070, Rio de Janeiro, RJ. Tel.: (21) 2536
7350; www.rebrip.org.br
Rede Nacional Pr-Unidades de Conservao (Rede Pr-UC) Rua
Schiller 702/B, Alto da XV, 80050-260, Curitiba, PR. Tel.: (41) 3262 9255;
redeprouc@redeprouc.org.br; www.redeprouc.org.br
Organizaes da Sociedade Civil
Ao Educativa Rua General Jardim 660, Vila Buarque, 01223-010,
So Paulo, SP. Tel.: (11) 3151 2333; comunica@acaoeducativa.org; www.
acaoeducativa.org
Assessoria e Servios a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-
PTA) Rua da Candelria 9, 6 andar, Centro, 20091-020, Rio de Janeiro,
RJ. Tel.: (21) 2253 8317; aspta@aspta.org.br; www.aspta.org.br (ver
Caatinga, ASPTA-PB)
Centro de Trabalho Indigenista (CTI) SCLN 210, Bloco C, Sala 217/218,
70862-530, Braslia, DF. Tel.: (61) 3349 7769; cti@trabalhoindigenista.org.
br; www.trabalhoindigenista.org.br (ver Cerrado, CTI-MA)
Comisso Pastoral da Terra (CPT) Rua 19, n.35, Ed. Dom Abel, 1 andar,
Centro, 74030-090, Goinia, GO. Tel.: (62) 4008 6466; cpt@cptnacional.org.
br; www.cptnacional.org.br (veja no site CPTs Regionais)
Comisso Pr-ndio de So Paulo (CPI-SP) Rua Padre de Carvalho
175, Pinheiros, 05427-100, So Paulo, SP. Tel.: (11) 3518 8961/3814 7228;
cpisp@cpisp.org.br; www.cpisp.org.br
Conselho Brasileiro de Manejo Florestal (FSC Brasil) SHIS QI 05,
Centro Comercial Gilberto Salomo, Bloco F, Sala 228-B, Lago Sul, 71615-
560, Braslia, DF. Tel.: (61) 3248 7274; fsc@fsc.org.br; www.fsc.org.br (ver
Planeta Terra, Forest Stewardship Council - FSC International)
Conselho Indigenista Missionrio (Cimi) SDS Edifcio Venncio III,
Salas 309 e 314, Asa Sul, 70393-900, Braslia, DF. Tel.: (61) 2106 1650;
nacional@cimi.org.br; www.cimi.org.br (veja no site Cimis Regionais)
Conservao Internacional (CI-Brasil) Av. Getlio Vargas 1.300,
7 andar, 30112-021, Belo Horizonte, MG. Tel: (31) 3261 3889; www.
conservacao.org (ver Planeta Terra, Conservation International; Amaznia,
CI Programa Amaznia; Cerrado, CI Programa Cerrado; Mata Atlntica,
CI Programa Mata Atlntica; Pantanal, CI Programa Pantanal; Zona
Costeira, CI Programa Marinho)
Cooperao e Apoio a Projetos de Inspirao Alternativa (Capina)
Rua Evaristo da Veiga 16, Sala 1601, Centro, 20031-040, Rio de Janeiro,
RJ. Tel.: (21) 2220 4580; capina@capina.org.br; www.capina.org.br
Coordenadoria Ecumnica de Servio (Cese) Rua da Graa 164,
40150-055, Salvador, BA. Tel.: (71) 2104 5457; cese@cese.org.br; www.
cese.org.br
Federao de rgos para Assistncia Social e Educacional (Fase
Nacional) Rua das Palmeiras 90, Botafogo, 22270-070, Rio de Janeiro, RJ.
Tel.: (21) 2536 7350; fase@fase.org.br; www.fase.org.br (ver Amaznia, Fase
Programa Par; Cerrado, Fase Programa Mato Grosso; Mata Atlntica,
Fase Programa Esprito Santo; Pantanal, Fase Programa Mato Grosso)
Fundo Brasil de Direitos Humanos Rua General Jardim 660, 8 andar,
Vila Buarque, 01223-010, So Paulo, SP. Tel.: (11) 3256 7852; informacoes@
fundodireitoshumanos.org.br; www.fundodireitoshumanos.org.br
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
DIRETRIO
520
Greenpeace Brasil Rua Alvarenga 2.331, Butant, 05509-006, So
Paulo, SP. Tel.: (11) 3035 1155; relacionamento@br.greenpeace.org; www.
greenpeace.org.br (ver Planeta Terra, Greenpeace International; Amaznia,
Greenpeace Manaus)
Instituto Akatu pelo Consumo Consciente Rua Padre Joo Manuel
40, 2 sobreloja, Conjunto Nacional, 01411-000, So Paulo, SP. Tel.: (11)
3141 0177/0208; www.akatu.org.br
Instituto Brasileiro de Anlises Sociais e Econmicas (Ibase) Av.
Rio Branco 124, 8 andar, Centro, 20148-900, Rio de Janeiro, RJ. Tel.: (21)
2509 0660; ibase@ibase.br; www.ibase.br (veja no site Observatrio da
Cidadania; ver Planeta Terra, Social Watch)
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) Rua Dr. Costa
Jnior 356, gua Branca, 05002-000, So Paulo, SP. Tel.: (11) 3874 2152;
coex@idec.org.br; www.idec.org.br
Instituto de Estudos da Religio (Iser) Ladeira da Glria 99, entrada
pela Rua do Russel 76, Glria, 22211-120, Rio de Janeiro, RJ. Tel.: (21) 2555
3750/3782; iser@iser.org.br; www.iser.org.br
Instituto de Estudos Socioeconmicos (Inesc) SCS Quadra 8, Bloco
B-50, Salas 433 e 441, Ed. Venncio 2000, Asa Sul, 70333-970, Braslia, DF.
Tel.: (61) 212 0200; protocoloinesc@inesc.org.br; www.inesc.org.br
Instituto de Manejo e Certifcao Florestal e Agrcola (Imafora)
Estrada Chico Mendes 185, Caixa Postal 411, Sertozinho, 13400-970, Piraci-
caba, SP. Tel.: (19) 3414 4015; imafora@imafora.org; www.imafora.org
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social Rua Dr.
Fernandes Coelho 85, 10 andar, Pinheiros, 05423-040, So Paulo, SP. Tel.:
(11) 3897 2400; atendimento@ethos.org.br; www.ethos.org.br
Instituto Socioambiental (ISA-DF) SCLN 210, Bloco C, Sala 112,
70862-530, Braslia, DF. Tel.: (61) 3035 5114; isadf@socioambiental.org;
www.socioambiental.org (ver Amaznia, ISA Manaus, ISA So Gabriel da
Cachoeira; Cerrado, ISA Canarana; Mata Atlntica, ISA Eldorado)
Instituto Socioambiental (ISA-SP) Av. Higienpolis 901, Higienpolis,
01238-001, So Paulo, SP. Tel.: (11) 3515 8900; isa@socioambiental.org;
www.socioambiental.org (ver Amaznia, ISA Manaus, ISA So Gabriel da
Cachoeira; Cerrado, ISA Canarana; Mata Atlntica, ISA Eldorado)
Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) HIGS, Quadra 705,
Asa Sul, Bloco K, Casa 11, 70350-711, Braslia, DF. Tel.: (61) 3244 5735/3242
8535; mab@mabnacional.org.br; www.mabnacional.org.br
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) Al. Baro
de Limeira 1.232, Campos Elseos, 01202-002, So Paulo, SP. Tel.: (11) 3361
3866; semterra@mst.org.br; www.mst.org.br
Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) SEPN 506,
Bloco C, Subsolo, Sala 34, 70740-503, Braslia, DF. Tel.: (61) 3273 7170;
secretaria@mndh.org.br; www.mndh.org.br
Movimento Nacional dos Pescadores (Monape) Rua dos Afogados
627, Centro, 65010-020, So Lus, MA. Tel.: (98) 3232 7305; monape2006@
hotmail.com
Plis Instituto de Estudos, Formao e Assessoria em Polticas
Sociais Rua Arajo 124, Centro, 01220-020, So Paulo, SP. Tel.: (11) 2174
6800; polis@polis.org.br; www.polis.org.br
Projeto Brasil Sustentvel e Democrtico (PBSD) Rua das Palmeiras
90, Botafogo, 22270-070, Rio de Janeiro, RJ. Tel.: (21) 2536 7350; jpierre@
fase.org.br; www.fase.org.br
Rede Nacional de Combate ao Trfico de Animais Silvestres
(Renctas) Caixa Postal 6.231, 70740-971, Braslia, DF. Tel.: (61) 3368
8970; renctas@renctas.org.br; www.renctas.org.br
Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE) Parque Portugal (Lagoa
do Taquaral), Porto 2, Av. Dr. Heitor Penteado s./n., Caixa Postal 7.031,
13076-970, Campinas, SP. Tel.: (19) 3296 5421; secretaria@sbe.com.br;
www.sbe.com.br
TNC Brasil Rua Lauro Muller 116, Ed. Rio Sul, Sala 3.405, Botafogo,
22290-160, Rio de Janeiro, RJ. Tel.: (21) 2159 2826; tnc@tnc.org.br; www.
tnc.org.br (ver Planeta Terra, The Nature Conservancy; Amaznia, TNC Ama-
znia; Cerrado, TNC Cerrado; Mata Atlntica, TNC Mata Atlntica)
WWF-Brasil SHIS EQ QL 6/8, Conj. E, 2 andar, Lago Sul, 71620-430,
Braslia, DF. Tel.: (61) 3364 7400; panda@wwf.org.br; www.wwf.org.br
(ver Planeta Terra, WWF International; Amaznia, WWF-AC)
Organizaes Multilaterais
Banco Mundial SCN, Quadra 2, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center,
Sala 303/304, 70712-900, Braslia, DF. Tel.: (61) 3329 1000; www.banco-
mundial.org.br (ver Planeta Terra, World Bank)
Organizao das Naes Unidas para a Educao, a Cincia e a Cul-
tura (Unesco Brasil) SAS, Quadra 5, Bl. H, Lote 6, Ed. CNPq/Ibict/Unesco,
9 Andar, 70070-914, Braslia, DF. Tel.: (61) 2106 3500; uhbrz@unesco.org.
br ; www.unesco.org.br (ver Planeta Terra, Unesco)
Organizao Internacional do Trabalho (OIT) Setor de Embaixadas
Norte, Lote 35, 70800-400, Braslia, DF. Tel.: (61) 2106 4600; prates@
oitbrasil.org.br; www.oit.org/brasilia (ver Planeta Terra, ILO)
Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento (PNUD
Brasil) SCN, Quadra 2, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center, 7 andar,
70712-901, Braslia, DF. Tel.: (61) 3038 9300; registry@undp.org.br; www.
pnud.org.br (ver Planeta Terra, UNDP)
Programa das Naes Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma Brasil)
SCN, Quadra 2, Bloco A, Ed. Corporate Financial Center, 11 andar, 70712-
901, Braslia, DF. Tel.: (61) 3038 9233; unep.brazil@undp.org.br; www.
onu-brasil.org.br/agencias_pnuma.php (ver Planeta Terra, UNEP)
Centros de Pesquisa e Acadmicos
Associao Brasileira de Antropologia (ABA) Depto. de Antropologia
(UnB), Campus Universitrio Darcy Ribeiro, Cx. Postal 04491, 70904-970,
Braslia, DF. Tel.: (61) 3307 3754; aba@abant.org.br; www.abant.org.br
Centro Brasileiro de Anlise e Planejamento (Cebrap) Rua Morgado
de Mateus 615, 04015-902, So Paulo, SP. Tel.: (11) 5574 0399/5928;
cebrap@cebrap.org.br; www.cebrap.org.br
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 521
DIRETRIO
Centro de Desenvolvimento Sustentvel (CDS/UnB) SAS, Qd. 5,
Bloco H, Sala 200, 70070-914, Braslia, DF. Tel.: (61) 3321 5001/3322 2550;
unbcds@cds.unb.br; www.unbcds.pro.br
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces) Av. 9 de Julho
2029, 11 andar, 01313-902, So Paulo, SP. Tel.: (11) 3281 3410/3342;
ces@fgvsp.br; ces.fgvsp.br
Coordenao-Geral de Observao da Terra (OBT/Inpe) Av. dos
Astronautas 1.758, Jd. Granja, 12227-010, So Jos dos Campos, SP. Tel.:
(12) 3945 6499/6459; www.obt.inpe.br
Departamento de Cincias Florestais (LCF-Esalq/USP) Av. Pdua
Dias 11, Cx. Postal 9, 13418-900, Piracicaba, SP. Tel.:(19) 3436 8622; lcf@
esalq.usp.br; www.esalq.usp.br/departamentos/lcf/
Departamento de Geografa da USP Av. Prof. Lineu Prestes 338,
Cidade Universitria, 05508-900, So Paulo, SP. Tel.: (11) 3091 3769; fg@
usp.br; www.geografa.fch.usp.br
Embrapa Monitoramento por Satlite Av. Dr. Jlio Soares de Arruda
803, Parque So Quirino, 13088-300, Campinas, SP. Tel.: (19) 3256 6030;
sac@cnpm.embrapa.br; www.cnpm.embrapa.br
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria (Embrapa) Parque
Estao Biolgica - PqEB s./n., 70770-901, Braslia, DF. Tel.: (61) 3448 4433;
sac@embrapa.br; www.embrapa.br (ver Amaznia, Embrapa Amaznia
Ocidental e Embrapa Amaznia Oriental; Caatinga, Embrapa Semi-rido;
Cerrado, Embrapa Cerrados; Pantanal, Embrapa Pantanal)
Faculdade de Economia, Administrao e Contabilidade (FEA/USP)
Av. Prof. Luciano Gualberto 908, Butant, 05508-900, So Paulo, SP. Tel.:
(11) 3091 5811; fea@edu.usp.br; www.fea.usp.br
Faculdade de Sade Pblica (FSP/USP) Av. Dr. Arnaldo 715, Cerqueira
Csar, 01246-904, So Paulo, SP. Tel.: (11) 3061 7000/7717; fsp@edu.usp.
br; www.fsp.usp.br
Fundao Andr Tosello (FAT) Rua Latino Coelho 1.301, 13087-010,
Campinas, SP. Tel.: (19) 3242 7022; atosello@fat.org.br; www.fat.org.br
Institut de Recherche pour le Dveloppement (IRD Brasil) SHIS,
QL16, Conj. 4, Casa 8, 71640-245, Braslia, DF. Tel.: (61) 3248 5323; bresil@
ird.fr; www.brasil.ird.fr
Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (Ippur/
UFRJ) Prdio da Reitoria, Sala 543, Cidade Universitria, llha do Fundo,
21949-900, Rio de Janeiro, RJ. Tel.: (21) 2598 1676/1927; ippur@ippur.ufrj.
br; www.ippur.ufrj.br
Instituto de Pesquisas Jardim Botnico do Rio de Janeiro (JBRJ)
Rua Pacheco Leo 915, 22460-030, Rio de Janeiro, RJ. Tel.: (21) 3204
2071/2070/2068; jbrj@jbrj.gov.br; www.jbrj.gov.br (ver Mata Atlntica, JBRJ
Programa Mata Atlntica; ver Zona Costeira, JBRJ Programa Zona Costeira)
Ncleo de Apoio Pesquisa sobre Populaes Humanas e reas
midas Brasileiras (Nupaub/USP) Rua do Anfteatro 181, Colmia,
Favo 6, Cidade Universitria, 05508-060, So Paulo, SP. Tel.: (11) 3091
3142/3425; nupaub@usp.br; www.usp.br/nupaub
Ncleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (Nepam/Unicamp)
Rua dos Flamboyants 155, Cidade Universitria, Unicamp, 13084-867,
Campinas, SP. Tel.: (19) 3521 7631; nepam@nepam.unicamp.br; www.
nepam.unicamp.br
Programa de Mestrado em Direito (PUC-PR) Centro de Cincias
Jurdicas e Sociais, Bloco Vermelho, Trreo, Rua Imaculada Conceio
1.155, 80215-901, Curitiba, PR. Tel.: (41) 3271 1633/1373; ppgd@pucbr.
br; www.pucpr.br
Programa de Ps-Graduao em Antropologia Social (PPGAS/Mu-
seu Nacional/UFRJ) Quinta da Boa Vista s./n., So Cristvo, 20940-040,
Rio de Janeiro, RJ. Tel.: (21) 2568 9642; ppgasmn@gmail.com; www.
ppgasmuseu.etc.br
Programa de Ps-Graduao em Antropologia Social (PPGAS/
UFSC) Caixa Postal 476, Campus Universitrio, Trindade, 88040-900,
Florianpolis, SC. Tel.: (48) 3721 9714; antropos@cfh.ufsc.br; www.
antropologia.ufsc.br
Programa de Ps-Graduao em Antropologia Social de Braslia
(PPGAS/UnB) Departamento de Antropologia, Campus Universitrio
Darcy Ribeiro, Asa Norte, ICC Centro, Sobreloja, B1-347, 70910-900, Braslia,
DF. Tel.: (61) 3307 2368; dan@unb.br; www.unb.br/ics/dan/
Programa de Ps Graduao em Cincia Ambiental (Procam/USP)
Rua do Anfteatro 181, Colmia, Favo 14, Cidade Universitria, 05508-900,
So Paulo, SP. Tel.: (11) 3091 3235; procam@usp.br; www.usp.br/procam
Programa de Ps-Graduao em Sociologia e Antropologia (PPG-
SA/IFCS/UFRJ) Largo do So Francisco de Paula 1, Sala 420, 20051-070,
Rio de Janeiro, RJ. Tel.: (21) 2224 8965 ramal 211/244; ppgsa@ifcs.ufrj.br;
www.ifcs.ufrj.br/~ppgsa/
Programa Gesto Pblica e Cidadania (FGV) Av. Nove de Julho 2.029,
11 andar, Ala Sul, 01313-902, So Paulo, SP. Tel.: (11) 3281 7904/7905;
inovando@fgvsp.br; www. inovando.fgvsp.br
Sociedade Brasileira de Economia Ecolgica (ECOECO) NEA/IE/Uni-
camp, Caixa Postal 6.135, Cidade Universitria, 13083-970, Campinas, SP.
Tel.: (19) 3521 5716; ecoeco@eco.unicamp.br; www.ecoeco.org.br
rgos Governamentais Federais
Agncia Nacional de guas (ANA) SPO Setor Policial Sul, rea 5,
Quadra 3, Blocos B L e M, 70610-200, Braslia, DF. Tel.: (61) 2109 5400;
imprensa@ana.gov.br; www.ana.gov.br (veja no site Comits de Bacias
Hidrogrfcas)
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH)
Palcio da Justia, Esplanada dos Ministrios, Bloco T, Sala 202, Anexo
2, 70064-900, Braslia, DF. Tel.: (61) 3429 3918/3957; cddph@sedh.org.br;
www.presidencia.gov.br/sedh
Conselho de Gesto do Patrimnio Gentico (Cgen) SCEN, Trecho
2, Ed. Sede do Ibama, Bloco G, 70818-900, Braslia, DF. Tel.: (61) 4009
9518/9503; cgen@mma.gov.br; www.mma.gov.br/port/cgen
Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) Esplanada dos
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
DIRETRIO
522
Ministrios, Bloco B, 6 andar, Sala 633, 70068-901, Braslia, DF. Tel.: (61)
4009 1433; conama@mma.gov.br; www.mma.gov.br/conama
Conselho Nacional de Recursos Hdricos (CNRH) SGAN, Quadra 601,
Lote 01, Ed. Codevasf, 4 andar, Sala 430-A, 70830-901, Braslia, DF. Tel.: (61)
4009 1858/1830; sec.executiva@cnrh-srh.gov.br; www.cnrh-srh.gov.br
Fundao Cultural Palmares (FCP) SBN, Edifcio Central Braslia,
Quadra 02, Bloco F, 1 subsolo, 70040-904, Braslia, DF. Tel.: (61) 3424
0108; palmares@palmares.gov.br; www.palmares.gov.br
Fundao Nacional do ndio (Funai) SEPS, Quadra 702/902, Edifcio
Lex, 70390-025, Braslia, DF. Tel.: (61) 3313 3500; cgae@funai.gov.br; www.
funai.gov.br (veja no site Administraes Executivas Regionais)
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovveis (Ibama) SCEN, Trecho 2, Ed. Sede do Ibama, 70818-900,
Braslia, DF. Tel.: (61) 3316 1212; www.ibama.gov.br (veja no site Bases
Avanadas de Pesquisa, Centros, Escritrio Regionais, Gerncias Executivas
nos Estados, Programas, Projetos e UCs)
Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria (Incra) SBQ,
Quadra 01, Bloco D, Edifcio Palcio do Desenvolvimento Incra, 70057-
900, Braslia, DF. Tel.: (61) 3411 7474; presidencia@incra.gov.br; www.incra.
gov.br (veja no site Superintendncias Regionais nos Estados)
Ministrio do Meio Ambiente (MMA) Esplanada dos Ministrios, Bloco
B, 5 andar, 70068-900, Braslia, DF. Tel.: (61) 4009 1000; educambiental@
mma.gov.br; www.mma.gov.br
Ministrio Pblico Federal (MPF) SAF Sul, Quadra 4, Conj. C, 70050-
900, Braslia, DF. Tel.: (61) 3031 5100; asscom@tgr.mpf.gov.br; www.pgr.
mpf.gov.br (veja no site Cmaras Temticas e Procuradorias da Repblica
nos Estados)
Proteo e Defesa do Consumidor (Procon) www.portaldoconsu-
midor.gov.br/procon.asp
Secretaria da Comisso Interministerial para os Recursos do
Mar (Secirm) Esplanada dos Ministrios, Bloco N, Anexo B, 3 andar,
70055-900, Braslia, DF. Tel.: (61) 3429 1313; secom@secirm.mar.mil.br;
www.secirm.mar.mil.br
Secretaria Especial de Polticas de Promoo da Igualdade Racial
(Seppir) Esplanada dos Ministrios, Bloco A, 9 andar, 70054-900,
Braslia, DF. Tel.: (61) 3411-4978; www.presidencia.gov.br/seppir
Secretaria Especial dos Direitos Humanos Esplanada dos Ministrios,
Bloco T, 4 andar, Sala 424, Edifcio Sede do Ministrio da Justia, 70064-
900, Braslia, DF. Tel.: (61) 3429 3454/3142; direitoshumanos@sedh.gov.
br; www. presidencia.gov.br/sedh
Sistema de Proteo da Amaznia (Sipam) SPO rea 5, Quadra 3,
Bloco k, 70610-200, Braslia, DF. Tel.: (61) 3214 0202; sipam@sipam.gov.
br; www.sipam.gov.br (veja no site Centros Regionais)
rgos Governamentais Estaduais
ACRE (Amaznia)
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema)
Rua Rui Barbosa 135, Centro, 69900-120, Rio Branco, AC. Tel.: (68) 3224
5694/3223 5497; imac@ac.gov.br; www.ac.gov.br
Fundao de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac) Av. das Accias,
Lote 01, Zona A, Distrito Industrial, 69917-100, Rio Branco, AC. Tel.: (68)
3229 2994; funtac@ac.gov.br; www.ac.gov.br
Ministrio Pblico do Estado do Acre Rua Marechal Deodoro 472, Cen-
tro, 69900-210, Rio Branco, AC. Tel.: (68) 3212 2002/03; procuradoriageral.
mpe@ac.gov.br; www.mp.ac.gov.br (veja no site Promotorias)
ALAGOAS (Caatinga, Mata Atlntica, Zona Costeira)
Secretaria Executiva de Meio Ambiente Centro Adm. Governamental,
Rod. AL-101 Norte, Km 5, 57340-640, Macei, AL. Tel.: (82) 3315 2680/53;
semarhn@semarhn.al.gov.br; www.semarhn.al.gov.br
Ministrio Pblico do Estado de Alagoas Ed. Carlos Guido Ferrrio
Lobo, Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva 79, Poo, 57025-400, Macei, AL.
Tel.: (82) 3336 6060; chefadegabinete@mp.al.gov.br; www.mp.al.gov.br
(veja Promotorias de Justia de Defesa do Rio So Francisco em Ministrio
Pblico de Minas Gerais)
AMAP (Amaznia, Zona Costeira)
Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) Av. Mendona
Furtado 53, Centro, 68900-060, Macap, AP. Tel.: (96) 3212 5301/5375;
geo@sema.ap.gov.br; www.sema.ap.gov.br
Ministrio Pblico do Estado do Amap Av. FAB 64, Centro,
68906-010, Macap, AP. Tel.: (96) 3212 1700; mp@mp.ap.gov.br; www.
mp.ap.gov.br
AMAZONAS (Amaznia)
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentvel (SDS) Rua Recife 3.280, Parque 10 de Novembro, 69050-
030, Manaus, AM. Tel.: (92) 3642 4330/4724; gabinete@sds.am.gov.br;
gabinete_sds@yahoo.com.br; www.sds.am.gov.br
Agncia de Floresta e Negcios Sustentveis do Amazonas R.
Recife 3.280, Parque 10, 69050-030, Manaus, AM. Tel.: (92) 3643 2309/3642
5526; malvino@forestas.am.gov.br; www.forestas.am.gov.br
Fundao Estadual dos Povos Indgenas (Fepi) Rua Bernardo Ramos
179, Centro, 69005-310, Manaus, AM. Tel.: (92) 3622 8168/8170/1002;
fepi@fepi.am.gov.br; www.fepi.am.gov.br
Instituto de Proteo Ambiental do Amazonas (Ipaam) Rua Recife
3.280, Parque 10 de Novembro, 69050-030, Manaus, AM. Tel.: (92) 3643
2300; ipaam@ipaam.br; www.ipaam.br
Ministrio Pblico do Estado do Amazonas Av. Coronel Teixeira
7995, Nova Esperana, 69030-480, Manaus, AM. Tel.: (92) 3655 0500;
gabinetepgj@mp.am.gov.br; www.mp.am.gov.br
BAHIA (Caatinga, Cerrado, Mata Atlntica, Zona Costeira)
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hdricos (Semarh) Av.
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 523
DIRETRIO
Luis Viana Filho, 3a. Avenida 390, Plataforma 4, Ala Norte, 4o andar, Centro
Administrativo da Bahia, 41745-005, Salvador, BA. Tel.: (71) 3115 3807;
secretario@semarh.ba.gov.br; www.semarh.ba.gov.br
Centro de Recursos Ambientais (CRA) Rua Rio So Francisco 01, Monte
Serrat, 40425-060, Salvador, BA. Tel.: (71) 3117 1200/0800 71 1400; cra@
cra.ba.gov.br; www.cra.ba.gov.br
Ministrio Pblico do Estado da Bahia Av. Joana Anglica 1.312,
Nazar, 40050-001, Salvador, BA. Tel: (71) 3103 6400/6500; webmaster@
mp.ba.gov.br; www.mp.ba.gov.br (veja no site Promotorias Regionais;
Promotorias de Justia de Defesa do Rio So Francisco em Ministrio Pblico
de Minas Gerais)
CEAR (Caatinga, Mata Atlntica, Zona Costeira)
Conselho de Polticas e Gesto do Meio Ambiente Av. Baro
de Studart 505, 1 andar, Palcio da Abolio, Meireles, 60120-000,
Fortaleza, CE. Tel.: (85) 3101 1233/1234/1237; asgab@soma.ce.gov.br;
www.soma.ce.gov.br
Superintendncia Estadual do Meio Ambiente (Semace) Rua Jaime
Benvolo 1.400, Bairro de Ftima, 60050-081, Fortaleza, CE. Tel.: (85) 3101
5568/5562; semace@semace.ce.gov.br; www.semace.ce.gov.br
Ministrio Pblico do Estado do Cear Rua Assuno 1.100, Jos
Bonifcio, 60050-011, Fortaleza, CE. Tel.: (85) 3452 3701/3702; info@pgj.
ce.gov.br; www.pgj.ce.gov.br
DISTRITO FEDERAL (Cerrado)
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
(Seduma) SCS, Quadra 6, Bloco A, Lotes 13/14, Ed. Sede Seduma,
70306-918, Braslia, DF. Tel.: (61) 3325 1803/1805/2271; www.seduma.
df.gov.br
Ministrio Pblico do Distrito Federal e Territrios (MPDFT)
Eixo Monumental, Praa do Buriti, Lote 02, Edifcio Sede do MPDFT,
70944-900, Braslia, DF. Tel.: (61) 3343 9500; comunic@mpdft.gov.br;
www.mpdft.gov.br
ESPRITO SANTO (Mata Atlntica, Zona Costeira)
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e de Recursos Hdricos
(Seama) BR 262, Km 0, s./n., Jardim Amrica, 29140-500, Cariacica,
ES. Tel.: (27) 3136 3501/3502; comunicacao@iema.es.gov.br; www.
seama.es.gov.br
Ministrio Pblico do Estado do Esprito Santo Rua Humberto
Martins de Paula 350, Ed. Promotor Edson Machado, Enseada do Su,
29050-265, Vitria, ES. Tel.: (27) 3224 4500; bbraga@mpes.gov.br; www.
mpes.gov.br
GOIS (Cerrado, Mata Atlntica)
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hdricos
de Gois (Semarh) Rua 82, Palcio Pedro Ludovico Teixeira, 1o andar,
Centro, 74015-908, Goinia, GO. Tel.: (62) 3201 5177/5150; semarh@
semarh.goias.gov.br; www.semarh.goias.gov.br
Agncia Goiana do Meio Ambiente 11a. Avenida 1.272, Setor Univer-
sitrio, 74605-060, Goinia, GO. Tel.: (62) 3265 1300/1328; agenciaambien-
tal@ambiental.go.gov.br; www.agencia ambiental.go.gov.br
Ministrio Pblico do Estado de Gois Rua 23, esquina com Av. B,
Quadra 6, Lotes 15/24, Jardim Gois, 74805-100, Goinia, GO. Tel.: (62)
3243 8000; gabinete@mp.go.gov.br; www.mp.go.gov.br
MARANHO (Amaznia, Caatinga, Cerrado, Zona Costeira)
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema)
Av. Colares Moreira, Quadra 19, Casa 9, Calhau, 65075-440, So Lus, MA.
Tel.: (98) 3235 7981
Ministrio Pblico do Estado do Maranho Rua Oswaldo Cruz 1396,
Centro, 65020-910, So Lus, MA. Tel.: (98) 3219 1600; pgj@mp.ma.gov.
br; www.pgj.ma.gov.br
MATO GROSSO (Amaznia, Cerrado, Pantanal)
Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) Rua C, esquina
c/ Rua F, Palcio Paiagus, Centro Poltico Administrativo, 78050-970,
Cuiab, MT. Tel.: (65) 3613 7200; ouvidoria@fema.mt.gov.br; www.
fema.mt.gov.br
Ministrio Pblico do Estado de Mato Grosso Rua 06 s./n.,
Centro Poltico Administrativo, 78050-900, Cuiab, MT. Tel.: (65) 3613
5100/5280/5199; atende.cidadao@mp.mt.gov.br; www.mp.mt.gov.br
MATO GROSSO DO SUL (Cerrado, Mata Atlntica, Pantanal)
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, das Cidades, do Plane-
jamento, da Cincia e Tecnologia (Semac) Rua Desembargador
Nunes da Cunha, Bloco 03, Parque dos Poderes, 79031-902, Campo
Grande, MS. Tel.: (67) 3318 4000; gabinete@semac.ms.gov.br; www.
semac.ms.gov.br
Ministrio Pblico do Estado de Mato Grosso do Sul Rua Pres.
Manoel Ferraz de Campos Salles 214, Jardim Veraneio, 79031-907,
Campo Grande, MS. Tel.: (67) 3318 2000/2088; pgj@mp.ms.gov.br; www.
mp.ms.gov.br
MINAS GERAIS (Caatinga, Cerrado, Mata Atlntica)
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentvel (Semad) Rua Esprito Santo 485, Centro, 30160-030, Belo
Horizonte, MG. Tel.: (31) 3219 5000/5122/5039; ascom@semad.mg.gov.
br; gabinete@semad.mg.gov.br; www.semad.mg.gov.br
Fundao Estadual do Meio Ambiente (Feam) Rua Esprito Santo,
495, Centro, 30160-030, Belo Horizonte, MG. Tel.: (31) 3219 5000; feam@
feam.br; www.feam.br
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
DIRETRIO
524
Ministrio Pblico de Minas Gerais Av. lvares Cabral 1.690, Santo
Agostinho, 30170-001, Belo Horizonte, MG. Tel.: (31) 3330 8100; pgjmg@
mp.mg.gov.br; www.mp.mg.gov.br
Promotorias de Justia de Defesa do Rio So Francisco Coordenadoria
Geral - Av. Raja Gabaglia 615, 2 andar, Cidade Jardim, 30380-090, Belo Hori-
zonte, MG. Tel.: (31) 3292 2683; pjsf@mp.mg.gov.br; www.mp.mg.gov.br/
PAR (Amaznia, Zona Costeira)
Secretaria Executiva de Cincia, Tecnologia e Meio Ambiente (Sec-
tam) Trav. Lomas Valentinas 2.717, Marcos, 66095-770, Belm, PA. Tel.:
(91) 3184 3318; gabinete@sectam.pa.gov.br; www.sectam.pa.gov.br
Ministrio Pblico do Estado do Par Rua Joo Diogo 100, Cidade
Velha, 66015-160, Belm, PA. Tel.: (91) 4006 3400; pgj@mp.pa.gov.br;
www.mp.pa.gov.br
PARABA (Caatinga, Mata Atlntica, Zona Costeira)
Secretaria de Estado da Cincia e Tecnologia e do Meio Ambiente
(Sectma) Av. Joo da Mata s./n., Centro Administrativo, Bloco II, 2
andar, Jaguaribe, 58015-020, Joo Pessoa, PB. Tel.: (83) 3218 4371/4373;
sectma@sectma.pb.gov.br; www.paraiba.pb.gov.br
Superintendncia de Administrao do Meio Ambiente (Sudema)
Av. Monsenhor Walfredo Leal 181, Tambi, 58020-540, Joo Pessoa, PB.
Tel.: (83) 3218 5602/5581; sudema@sudema.pb.gov.br; www.sudema.
pb.gov.br
Ministrio Pblico da Paraba Rua Rodrigues de Aquino s./n., Centro,
58013-030, Joo Pessoa, PB. Tel.: (83) 2107 6000/6128; dipla@pgj.pb.gov.
br; gabin@pgj.pb.gov.br; www.pgj.pb.gov.br
PARAN (Cerrado, Mata Atlntica, Zona Costeira)
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hdricos (Sema)
Rua Desembargador Motta 3.384, 80430-200, Curitiba, PR. Tel.: (41)
3304 7700; sema@pr.gov.br; www.pr.gov.br/sema (veja no site Escritrios
Regionais da Sema)
Instituto Ambiental do Paran (IAP) Rua Engenheiro Rebouas 1.206,
80215-100, Curitiba, PR. Tel.: (41) 3213 3700; iapcuritiba@pr.gov.br; www.
pr.gov.br/meioambiente/iap/index.shtml
Ministrio Pblico do Estado do Paran Rua Marechal Hermes 751,
Centro Cvico, 80530-230, Curitiba, PR. Tel.: (41) 3250 4000; mpgabpgj@
pr.gov.br; www.mp.pr.gov.br
PERNAMBUCO (Caatinga, Mata Atlntica, Zona Costeira)
Secretaria de Cincia, Tecnologia e Meio Ambiente (Sectma) Rua
Vital de Oliveira 32, Bairro do Recife, 50030-370, Recife, PE. Tel.: (81) 3425
0300/0310; sectma@sectma.pe.gov.br; www.sectma.pe.gov.br
Ministrio Pblico de Pernambuco Rua do Imperador 473, Sto. Ant-
nio, 50010-240, Recife, PE. Tel.: (81) 3419 7000; pgj@mp.pe.gov.br; www.
mp.pe.gov.br (veja no site Promotorias; Promotorias de Justia de Defesa do
Rio So Francisco em Ministrio Pblico de Minas Gerais)
PIAU (Caatinga, Cerrado, Mata Atlntica, Zona Costeira)
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hdricos (Semar) Rua
Des. Freitas 1.599, Edifcio Paulo VI, 64000-240, Teresina, PI. Tel.: (86) 3216
2033/3221 7800; secsemar@semar.pi.gov.br; www.semar.pi.gov.br
Ministrio Pblico do Estado de Piau Rua lvaro Mendes 2.294,
Centro, 64000-060, Teresina, PI. Tel.: (86) 3216 4550; pgj@mp.pi.gov.br;
www.mp.pi.gov.br
RIO DE JANEIRO (Mata Atlntica, Zona Costeira)
Secretaria do Ambiente (SEA) Av. Graa Aranha 182, 6 andar, Centro,
20030-001, Rio de Janeiro, RJ. Tel.: (21) 2299 9205; ambiente@ambiente.
rj.gov.br; www.ambiente.rj.gov.br
Ministrio Pblico do Estado do Rio de Janeiro Av. Marechal Cmara
370, Centro, 20020-080, Rio de Janeiro, RJ. Tel.: (21) 2550 9050; pgj@mp.rj.
gov.br; www.mp.rj.gov.br
RIO GRANDE DO NORTE (Caatinga, Mata Atlntica, Zona Costeira)
Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte
(Idema) Av. Nascimento de Castro 2.127, Lagoa Nova, 59056-450, Natal,
RN. Tel.: (84) 3232 2110; idema@rn.gov.br; www.idema.rn.gov.br
Ministrio Pblico do Rio Grande do Norte Rua Promotor Manoel
Alves Pessoa Neto 97, Candelria, 59065-555, Natal, RN. Tel.: (84) 3232
7130; pgj@rn.gov.br; www.mp.rn.gov.br
RIO GRANDE DO SUL (Mata Atlntica, Pampa, Zona Costeira)
Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul Rua
Carlos Chagas 55, 9 andar, Centro, 90030-020, Porto Alegre, RS. Tel.: (51)
3288 8100; sema@sema.rs.gov.br; www.sema.rs.gov.br
Ministrio Pblico do Rio Grande do Sul Rua Andrade Neves 106,
Centro, 90010-210, Porto Alegre, RS. Tel.: (51) 3287 8000; www.mp.rs.gov.
br (veja no site Promotorias de Comarcas do interior do Estado)
RONDNIA (Amaznia, Cerrado)
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam)
Estrada de Santo Antnio 900, Parque Cujubim, 78900-000, Porto
Velho, RO. Tel.: (69) 3216 1045/1084; gabinete@sedam.ro.gov.br; www.
rondonia.ro.gov.br
Ministrio Pblico de Rondnia Rua Jamari 1.555, Pedrinhas,
78903-037, Porto Velho, RO. Tel.: (69) 3216 3700; pgj@mp.ro.gov.br;
www.mp.ro.gov.br
RORAIMA (Amaznia)
Fundao Estadual do Meio Ambiente, Cincia e Tecnologia de
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 525
DIRETRIO
Roraima (Femact) Av. Ville Roy 4.935, So Pedro, 69306-665, Boa
Vista, RO. Tel.: (95) 3623 1922; www.femact.rr.gov.br
Ministrio Pblico de Roraima Av. Santos Dumont 710, So Pedro,
69306-040, Boa Vista, Roraima. Tel.: (95) 3621 2900; pgj@mp.rr.gov.br;
www.mp.rr.gov.br (veja no site Promotorias)
SANTA CATARINA (Mata Atlntica, Zona Costeira)
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econmico Sustentvel
Rua Frei Caneca 400, Agronmica, 88025-060, Florianpolis, SC. Tel.: (48)
3029 9000/9019; sds@sds.sc.gov.br; www.sds.sc.gov.br
Fundao do Meio Ambiente (Fatma) Rua Felipe Schmidt 485,
Centro, 88010-001, Florianpolis, SC. Tel.: (48) 3216 1700; fatma@fatma.
sc.gov.br; www.fatma.sc.gov.br (veja no site Coordenadorias Regionais e
Posto Avanado)
Ministrio Pblico de Santa Catarina Pao da Bocaiva, Rua
Bocaiva 1.750, Centro, 88015-904, Florianpolis, SC. Tel.: (48) 3229
9000; pgj@mp.sc.gov.br; www.mp.sc.gov.br (veja no site Promotorias de
Justia por Comarca)
SO PAULO (Cerrado, Mata Atlntica, Zona Costeira)
Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA) Av. Prof. Frederico
Hermann Jnior 345, Alto de Pinheiros, 05459-900, So Paulo, SP. Tel.: (11)
3133 3000/0800 113560 (Disque Meio Ambiente); ouvidoria@ambiente.
sp.gov.br; www.ambiente.sp.gov.br (veja no site Cetesb, Fundao Florestal,
Instituto de Botnica e Instituto Florestal)
Ministrio Pblico do Estado de So Paulo Rua Riachuelo 115,
Centro, 01007-904, So Paulo, SP. Tel.: (11) 3119 9000; comunicacao@
mp.sp.gov.br; www.mp.sp.gov.br (veja no site Fale Conosco, Telefones do
Ministrio Pblico, Ministrio Pblico Interior)
SERGIPE (Caatinga, Mata Atlntica, Zona Costeira)
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hdricos
Av. Herclito Rollemberg 4.444, Distrito Industrial de Aracaju, 49030-640,
Aracaju, SE. Tel.: (79) 3179 7301; www.semarh.se.gov.br
Ministrio Pblico de Sergipe Praa Fausto Cardoso 327, Centro,
49010-080, Aracaju, SE. Tel.: (79) 3216 2400; procger@mp.se.gov.br; www.
mp.se.gov.br (veja Promotorias de Justia de Defesa do Rio So Francisco em
Ministrio Pblico de Minas Gerais)
TOCANTINS (Amaznia, Cerrado)
Secretaria de Recursos Hdricos e Meio Ambiente Praa dos
Girassis s./n., Esplanada das Secretarias, Centro, 77001-002, Palmas, TO.
Tel.: (63) 3218 1141; www.srh.to.gov.br
Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) AANE 40, QI-02,
LT-03A, AL-01, 77054-040, Palmas, TO. Tel.: (63) 3218 2600; naturatins@
naturatins.to.gov.br; www.to.gov.br/naturatins
Ministrio Pblico do Estado do Tocantins 202 Norte, Av. LO4 esq.
Teotnio Segurado, 77006-218, Palmas, TO. Tel.: (63) 3218 3500; mp.to@
uol.com.br; www.mp.to.gov.br
AMAZNIA
Redes da Sociedade Civil
Frum Carajs Rua Armando Vieira da Silva 110, Apeadouro, 65030-
130, So Lus, MA. Tel.: (98) 3249 9712; forumcarajas@forumcarajas.org.
br; www.forumcarajas.org.br
Frum da Amaznia Oriental (Faor) Rua Senador Lemos 557,
Umarizal, 66050-000, Belm, PA. Tel.: (91) 3261 4334; faor@faor.org.br;
www.faor.org.br
Frum Matogrossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Formad) Rua Carlos Gomes 20, Aras, 78005-630, Cuiab, MT. Tel.: (65)
3324 0893; formad@terra.com.br; www.formad.org.br
Grupo de Trabalho Amaznico (GTA Nacional) Tel.: (61) 3202 4452;
gtanacional@gta.org.br; www.gta.org.br
Organizaes da Sociedade Civil
Ao Ecolgica Vale do Guapor (Ecopor) Rua Rafael Vaz e Silva
3.335, Liberdade, 78904-120, Porto Velho, RO. Tel.: (69) 3224 7870; ecopo-
re@ecopore.org.br; ecopore@enter-net.com.br; www.ecopore.org.br
Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins (APA-TO)
403 Sul, Lote 12, Alameda 19, 77176-020, Palmas, TO. Tel.: (63) 3216
3484; apa-to@uol.com.br
Amigos da Terra Amaznia Brasileira Rua Bento de Andrade 85,
Jardim Paulista, 04503-010, So Paulo, SP. Tel.: (11) 3887 9369; contato@
amazonia.org.br; www.amazonia.org.br
Associao Centro de Tecnologia Alternativa (CTA) Caixa Postal
122, 78250-000, Pontes e Lacerda, MT. Tel.: (65) 3266 1781; ctamt@
sisproel.com.br
Associao das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do
Maranho (Aconeruq-MA) Av. Alexandre Moura 518, Centro, Apicum,
65025-470, So Lus, MA. Tel.: (98) 3232 9298; aconeruq@bol.com.br ;
www.aconeruq.org.br
Associao das Comunidades Remanescentes de Quilombos
do Municpio de Oriximin (Arqmo) Rua 24 de Dezembro
3068, Centro, 68270-000, Oriximin, PA. Tel.: (93) 3544 2617; www.
quilombo.org.br
Associao em reas de Assentamento no Estado do Maranho
(Assema) Rua Ciro Rego 218, Centro, 65725-000, Pedreiras, MA. Tel.: (99)
3642 2061; gentedefbra@assema.org.br; www.assema.org.br
Associao Panar Yaki - Aldeia Nsepoti Terra Indgena Panar.
Rua das Amendoeiras 395, Centro, 78520-000, Guarant do Norte, MT
Associao SOS Amaznia Rua Par 61, Cadeia Velha, 69900-440,
Rio Branco, AC. Tel.: (68) 3223 1036; sosamazonia@sosamazonia.org.br;
www.sosamazonia.org.br
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
DIRETRIO
526
Associao Terra Indgena Xingu (Atix) Av. Mato Grosso 607, Centro,
78640-000, Canarana, MT. Tel.: (66) 3478 1948; atix@brturbo.com.br
Associao Viva Verde da Amaznia (Avive Amaznia) Rua
Cizenando Grana 622, Panorama, 69110-000, Silves, AM. Tel.: (92) 3528
2161; www.avive.org.br
Centro de Direitos Humanos de Palmas (CDHP) 306 Sul, Al. 4, AI 2,
77021-046; Palmas, TO. Tel.: (63) 3215 3309; cdhp@uol.com.br; amigos-
dosdireitoshumanos@yahoo.com.br
Centro dos Trabalhadores da Amaznia (CTA) Av. Epaminondas
Jcome 1.994, Cadeia Velha, 69908-420, Rio Branco, AC. Tel.: (68) 3223
2727; cta@cta-acre.org; www.cta-acre.org
CI Programa Amaznia Av. Governador Jos Malcher 652, 2
andar, Ed. Capemi, 66035-100, Belm, PA. Tel.: (91) 3225 3848/3707;
info@conservacao.org; www.conservacao.org (ver Brasil, Conservao
Internacional)
Comisso Pr-ndio do Acre (CPI/AC) Rua Pernambuco 1026, Bosque,
69907-580, Rio Branco, AC. Tel.: (68) 3224 1426; cpiacre@cpiacre.org.br;
www.cpiacre.org.br
Comisso Pr-Yanomami (CCPY) Rua Presidente Costa e Silva
116, So Pedro, 69306-030, Boa Vista, RR. Tel.: (95) 3224 7068; www.
proyanomami.org.br
Conselho Indgena de Roraima (CIR) Av. Sebastio Diniz 2.630, So
Vicente, 69303-120, Boa Vista, RR. Tel.: (95) 3224 5761; cir@terra.com.
br; www.cir.org.br
Coordenao das Organizaes Indgenas da Amaznia Brasileira
(Coiab) Av. Ayro 235, Presidente Vargas, 69025-290, Manaus, AM. Tel.:
(92) 3233 0548/0749; coiab@coiab.com.br; www.coiab.com.br
Fase /Programa Par Rua Bernal do Couto 1.329, Umarizal, 66055-
080, Belm, PA. Tel.: (91) 4005 3770/3773; amazonia@fase-pa.org.br;
www.fase.org.br/regionais.asp?categoria=regional_ amazonia (ver
Brasil, Fase Nacional)
Federao das Organizaes Indgenas do Rio Negro (Foirn) Av.
lvaro Maia 79, Centro, Caixa Postal 31, 69750-000, So Gabriel da Cacho-
eira, AM. Tel.: (97) 3471 1632/1349/1001; foirn@foirn.org.br
Fundao Vitria Amaznica (FVA) Rua Estrela Dalva 7, Conj. Morada
do Sol, Aleixo, 69080-510, Manaus, AM. Tel.: (92) 3642 4559/7866; fva@
fva.org.br; www.fva.org.br
Fundao Viver Produzir Preservar (FVPP) Rua Anchieta 2.092,
Centro, 68371-190, Altamira, PA. Tel.: (93) 3515 2406; fvppaltamira@
yahoo.com.br
Greenpeace Manaus Av. Joaquim Nabuco 2.367, Centro, 69020-031,
Manaus, AM. Tel.: (92) 4009 8000; greenpeace@greenpeace.org.br; www.
greenpeace.org.br/amazonia (ver Brasil, Greenpeace Brasil)
Instituto Centro de Vida (ICV) Av. Jos Estevam Torquarto 999,
Jardim Vitria, 78055-731, Cuiab, MT. Tel.: (65) 3641 1550/5382; icv@
icv.org.br; www.icv.org.br
Instituto de Desenvolvimento Sustentvel Mamirau (IDSM) Es-
trada do Bexiga 2584, Fonte Boa, Caixa Postal 38, 69470-000, Tef, AM. Tel.:
(97) 3343 4672; dolly@mamiraua.org.br; www.mamiraua.org.br
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amaznia (Ipam) Av. Nazar
669, 66035-170, Belm, PA. Tel.: (91) 3283 4343/4341; www.ipam.org.br
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amaznia (Imazon) Rua
Domingos Marreiros 2020, Altos, 66060-160, Belm, PA. Tel.: (91) 3182
4000; imazon@imazon.org.br; www.imazon.org.br
Instituto Floresta Tropical (IFT) Rua dos Mundurucus 1613, Batista
Campos, 66025-660, Belm, PA. Tel.: (91) 3202 8300; geral@ft.org.br;
www.ift.org.br
ISA Manaus Rua Costa Azevedo 272, 1 andar, 69010-230, Manaus, AM.
Tel.: (92) 3631 1244; isamao@socioambiental.org; www.socioambiental.
org (ver Brasil, Instituto Socioambiental)
ISA So Gabriel da Cachoeira Rua Projetada 70, 69750-000, So
Gabriel da Cachoeira, AM. Tel..: (97) 3471 1156; isarn@socioambiental.org;
www.socioambiental.org (ver Brasil, Instituto Socioambiental)
Kanind, Associao de Defesa Etno-Ambiental Rua Dom Pedro II
1.892, Sala 7, Nossa Senhora das Gracas, 78901-150, Porto Velho, RO. Tel.:
(69) 3229 2826; kaninde@kaninde.org.br; www.kaninde.org.br
Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babau (MI-
QCB) Rua Nascimento de Moraes 437 (antiga Rua Um), So Francisco,
65076-320, So Lus, MA. Tel.: (98) 3268 3357; miqcb@miqcb.org.br;
www.miqcb.org.br
Operao Amaznia Nativa (Opan) Av. Ipiranga 97, Bairro Goiabeira,
78020-810, Cuiab, MT. Tel.: (65) 3322 2980; opan@alternex.com.br;
opam@terra.com.br; www.opan.org.br
Organizao dos Seringueiros de Rondnia (OSR) Rua Joaquim
Nabuco 1.215, Areal, 78916-420, Porto Velho, RO. Tel.: (69) 3224 1031/1368;
seringueirosderondonia@gmail.com; www.seringueiros.com.br
Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos (SMDDH)
Rua 7 de Setembro 160, Centro, 65010-120, So Lus, MA. Tel.: (98) 3231
1601/1897; smdh@terra.com.br; www.smdh.org.br
Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH) Av.
Governador Jos Malcher 1381, Nazar, 66060-090, Belm, PA. Tel.: (91)
3241 1518; sddh@veloxmail.com.br
TNC Amaznia Av. Nazar 280, Nazar, 66035-170, Belm, PA. Tel.: (91)
4008 6200; tnc@tnc.org.br; www.tnc.org.br (ver Brasil, TNC Brasil)
WWF-AC Rua Senador Eduardo Assmar 37, Salas 01 e 04, 2 andar,
69901-160, Rio Branco, AC. Tel.: (68) 3244 1705/3224 8357; www.wwf.
org.br (ver Brasil, WWF-Brasil)
Centros de Pesquisa e Acadmicos
Embrapa Amaznia Ocidental Rodovia AM 010 km 29, Estrada
Manaus/Itacoatiara, Caixa Postal 319, 69010-970, Manaus, AM. Tel.: (92)
3621 0300; sac@cpaa.embrapa.br; chgeral@cpaa.embrapa.br; www. cpaa.
embrapa.br (ver Brasil, Embrapa)
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 527
DIRETRIO
Embrapa Amaznia Oriental Trav. Dr. Enas Pinheiro s./n., 66095-100,
Belm, PA. Tel.: (91) 3204 1000/1014; sac@cpatu.embrapa.br; www.cpatu.
embrapa.br (ver Brasil, Embrapa)
Instituto de Pesquisas Cientfcas e Tecnolgicas do Estado do
Amap (Iepa) /Centro de Pesquisas Zoobotnicas e Geolgicas
(CPZG) Rod. Juscelino Kubitschek Km-10, Fazendinha, 68912-250,
Macap, AP. Tel.: (96) 3212 5358; www.iepa.ap.gov.br
Instituto Nacional de Pesquisas da Amaznia (Inpa) Av. Andr
Arajo 2.936, Aleixo, 69060-000, Manaus, AM. Tel.: (92) 3643 3377; ascom@
inpa.gov.br; www.inpa.gov.br
Museu Paraense Emlio Goeldi (MPEG) Av. Magalhes Barata 376,
Caixa Postal 399, So Braz, 66040-170, Belm, PA. Tel.: (91) 3249 1302/3219
3300; comunicacao@museu-goeldi.br; www.museu-goeldi.br
Ncleo de Altos Estudos Amaznicos (NAEA/UFPA) Rua Augusto Cor-
ra 1, Campus Universitrio do Guam, Setor Profssional, 66075-900, Belm,
PA. Tel.: (91) 3201 7231; secretaria_naea.ufpa.br; www.ufpa.br/naea
Programa de Ps-Graduao em Ecologia e Manejo de Recursos
Naturais (Meco/Ufac) Campus Universitrio ulio Glio Alves de Souza,
Bloco da Ps-Graduao, BR 364-Km 04, Distrito Industrial, 69915-900, Rio
Branco, AC. Tel.: (68) 3901 3662; meco@ufac.br; www.ufac.br/ensino/mes-
trado/mest_ecologia/mest_ecologia_index.htm
Programa Pobreza e Meio Ambiente na Amaznia (Poema/UFPA)
Campus Universitrio do Guam, Setor Profssional, Casa do Poema,
Caixa Postal 8.606, 66075-900, Belm, PA. Tel.: (91) 3249 1986/3201
7700/7686; poema@amazon.com.br; jornalismopoema@gmail.com;
www.ufpa.br/poema
Universidade do Estado do Mato Grosso /Campus Universitrio de
Alta Floresta (Unemat/Alta Floresta) Rod. MT 208 Km 146, Jardim
Tropical, 78580-000, Alta Floresta, MT. Tel.: (66) 3521 2041; af.unemat.
br; www.unemat.br
Universidade do Estado do Mato Grosso /Campus Universitrio
de Sinop (Unemat/Sinop) Av. dos Ings 3.001, Centro, Caixa Postal
680, 78550-000, Sinop, MT. Tel.: (66) 3511 2100; coordsnp@hotmail.com;
www.unemat-net.br
Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Av. Gen. Rodrigo
Octvio Jordo Ramos 3.000, Campus Universitrio, Coroado I, 69077-
000, Manaus, AM. Tel.: (92) 3647 4332/4313; gabinete@ufam.edu.br;
www.ufam.edu.br
CAATINGA
Redes da Sociedade Civil
Articulao no Semi-rido Brasileiro (ASA) Rua Nicargua 111,
Espinheiro, 52020-190, Recife, PE. Tel.: (81) 2121 7666; asa@asabrasil.org.
br; www.asabrasil.org.br (veja no site ASA Pernambuco)
Organizaes da Sociedade Civil
Assessoria e Servios a Projetos em Agricultura Alternativa
/Paraba (ASPTA-PB) Caixa Postal 33, 58135-000, Esperana, PB.
Tel.: (83) 3361 9040/9041; asptapb@aspta.org.br; www.aspta.org.br
(ver Brasil, AS-PTA)
Associao de Apoio s Comunidades do Campo do Rio Grande
do Norte (AACC) Rua Doutor Mcio Galvo 449, Lagoa Seca, 59022-
530, Natal, RN. Tel.: (84) 3211 6131/6415; aaccrn@aaccrn.org.br; www.
aaccrn.org.br
Associao de Desenvolvimento Sustentvel e Solidrio da
Regio Sisaleira (Apaeb Valente) Rua Duque de Caxias 78, Centro,
48890-000, Valente, BA. Tel.: (75) 3263 3900; telefonista@apeb.com.br;
www.apaeb.com.br
Associao Maranhense para a Conservao da Natureza (Amavida)
Rua 07, Quadra I, Casa 01, Jardim Bela Vista, 65073-200, So Lus, MA. Tel.:
(98) 3246 6679/4485; amavida@amavida.org.br; www.amavida.org.br
Associao Nacional de Ao Indigenista (Ana) Rua das Laranjeiras
26, 1 andar, Pelourinho, 40026-230, Salvador, BA. Tel.: (71) 3321 0259;
anai@anai.org.br; www.anai.org.br
Associao Pernambucana de Defesa da Natureza (Aspan) Caixa
Postal 7.862, 50732-970, Recife, PE. Tel.: (81) 3222 2038; aspan@aspan.
org.br; www.aspan.org.br
Caritas Regional Piau Rua Agnelo Pereira da Silva 3135, So Joo,
64045-260, Teresina, PI. Tel.: (86) 3233 6302; caritas.pi@uol.com.br ;
www.caritasbrasileira.org
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas (CAA/NM) Rua
Anhanguera 681, Cndida Cmara, 39401-034, Montes Claros, MG. Tel.: (38)
4009 1513; caa@caa.org.br; secretaria@caa.org.br; www.caa.org.br
Centro de Aprendizado Agro-Ecolgico (CAA) Alameda das Aucenas,
Quadra 26, Casa 82, Cidade 2000, 60190-120, Fortaleza, CE. Tel.: (85) 3249
5173; hojejco@terra.com.br
Centro de Assessoria aos Movimentos Populares do Vale do Jequiti-
nhonha (Campo-Vale) Rua Washington Costa 92, Saudade, 39650-000,
Minas Novas, MG. Tel.: (33) 3764 1388; campo@uai.com.br
Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituies no
Governamentais Alternativas (Caatinga) Av. Engenheiro Camacho
475, Renascena, 56200-000, Ouricuri, PE. Tel.: (87) 3874 1258; caatinga@
caatinga.org.br, www.caatinga.org.br
Centro de Assessoria e Servio aos Trabalhadores da Terra Dom
Jos Brando de Castro (CDJBC) Rua Guapor 616, Siqueira Campos,
49075-290, Aracaju, SE. Tel.: (79) 3259 6971/6928; cdjbc@cdjbc.org.br;
www.cdjbc.org.br
Centro de Desenvolvimento Agroecolgico Sabi Rua do Sossego
355, Santo Amaro, 50050-080, Recife, PE. Tel.: (81) 3223 7026/3323; sabia@
centrosabia.org.br; www.centrosabia.org.br
Centro de Educao Comunitria Rural (Cecor) Rua Comandante
Superior 1.349, Centro, 56903-492, Serra Talhada, PE. Tel.: (87) 3831 2385;
cecor@netcdl.com.br
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
DIRETRIO
528
Centro de Educao So Francisco de Assis (Cefas) Rod. PI-05, Km
04, Stio Melancia, Caixa Postal 77, 64800-000, Floriano, PI. Tel.: (89) 3522
2019; cefaspi@yahoo.com.br
Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria ao Trabalhador
(Cetra) Rua Tibrcio Cavalcante 2.953, Dionsio Torres, 60125-101,
Fortaleza, CE. Tel.: (85) 3247 1660/1659; cetra1981@cetra.org.br; www.
cetra.org.br
Centro de Habilitao e Apoio ao Pequeno Agricultor do Araripe
(Chapada) Travessa Joo Jac de Souza 120, 56280-000, Araripina, PE. Tel.:
(87) 3873 1102, chapada@htnet.com.br, www.chapadararipe.org.br
Diaconia Av. Divinpolis 456, Centro, 59865-000, Umarizal, RN. Tel.: (84)
3397 2237/2665; umarizal@diaconia.org.br; www.diaconia.org.br
Escola de Formao Paulo de Tarso Rua Magalhes Filho 646,
Centro/Sul, 64001-350, Teresina, PI. Tel.: (86) 3223 7623/3222 1310;
efpt@uol.com.br
ESPLAR Centro de Pesquisa e Assessoria Rua Princesa Isabel 1.968,
Benfca, 60015-061, Fortaleza, CE. Tel.: (85) 3252 2410; esplar@esplar.
org.br; www.esplar.org.br
Fundao do Desenvolvimento Integrado do So Francisco
(Fundifran) Rua Alcebades Quinteiro 432, Centro, 47520-000, Iboti-
rama, BA. Tel.: (77) 3698 1163/1855; fundifran@fundifran.org.br; www.
fundifran.org.br
Fundao Museu do Homem Americano (Fumdham) Centro Cultu-
ral Srgio Motta s./n., Campestre, 64770-000, So Raimundo Nonato, PI.
Tel.: (89) 3582 1612; fumdham@terra.com.br; www.fumdham.com.br
Instituto para Gesto em Tecnologias Apropriadas e Ecologia (GTAE)
Rua Manuel Lucio 419, Primavera, 57304-350, Arapiraca, AL. Tel.: (82)
3530 1503; mgagrobio@ig.com.br; mgagrobio@hotmail.com
Instituto Regional da Pequena Agropecuria Apropriada (Irpaa)
Avenida das Naes n 4, Castelo Branco, 48900-000, Juazeiro, BA. Tel.:
(74) 3611 6481; irpaa@irpaa.org; www.irpaa.org
Instituto Serto Rua Mombaa 68, Aldeota, 60160-190, Fortaleza, CE.
Tel.: (85) 3253 2422; sertao@sertao.org.br; www.sertao.org.br
Movimento de Organizao Comunitria (MOC) Rua Pontal 61, Alto
do Cruzeiro, 44017-170, Feira de Santana, BA. Tel.: (75) 3221 1393; moc@
moc.org.br; moc.ba@uol.com.br; www.moc.org.br
Servio de Assessoria a Organizaes Populares Rurais (Sasop)
Rua Conquista 132, Pq. Cruz Aguiar, Rio Vermelho, 41940-610, Salvador,
BA. Tel.: (71) 3335 6049; sasop@sasop.org.br; www.sasop.org.br
Centros de Pesquisa e Acadmicos
Embrapa Semi-rido BR 428, km 152, Zona Rural, Caixa Postal 23,
56302-970, Petrolina, PE. Tel.: (87) 3862 1711; sac@cpatsa.embrapa.br;
www.cpatsa.embrapa.br (ver Brasil, Embrapa)
Fundao Joaquim Nabuco (Fundaj) Av. Dezessete de Agosto 2.187,
Casa Forte, 52061-540, Recife, PE. Tel. (81) 3073 6363; sjn@fundaj.gov.br;
www.fundaj.gov.br
Ncleo de Referncia em Cincias Ambientais do Trpico Ecotonal
do Nordeste (Tropen/UFPI) Av. Universitria 1.310, Campus da Ininga,
64049-550, Teresina, PI. Tel.: (86) 3215 5566; tropen@ufpi.br; www.ufpi.
br/pro_reitoria_subsetor.php?id=41
CERRADO
Redes da Sociedade Civil
Frum Carajs Rua Armando Vieira da Silva 110, Apeadouro, 65030-
130, So Lus, MA. Tel.: (98) 3249 9712; forumcarajas@forumcarajas.org.
br; www.fcarajas.org.br
Frum das ONGs Ambientalistas do DF e Entorno SCLN 409, Bloco C,
Subsolo, Salas 64/68, 70857-530, Braslia, DF. Tel.: (61) 3349 1293; forum@
ambiente.org.br; www.ambiente.org.br
Frum Matogrossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Formad) Rua Carlos Gomes 20, Aras, 78005-630, Cuiab, MT. Tel.: (65)
3324 0893; formad@terra.com.br; www.formad.org.br
Rede Cerrado SCLN 114, Bloco A, Sala 104, 70764-510, Braslia, DF. Tel.:
(61) 3274 7789; redecerrado@brturbo.com.br; www.redecerrado.org.br
Organizaes da Sociedade Civil
Alternativas para a Pequena Agricultura no Tocantins (APA-TO)
403 Sul, Lote 12, Alameda 19, 77176-020, Palmas, TO. Tel.: (63) 3216
3484; apa-to@uol.com.br
Associao Centro de Tecnologia Alternativa (CTA) Caixa Postal
122, 78250-000, Pontes e Lacerda, MT. Tel.: (65) 3266 1781; ctamt@
vst.com.br
Associao das Comunidades Negras Rurais Quilombolas do
Maranho (Aconeruq-MA) Av. Alexandre Moura 518, Centro-Apicu,
65025-470, So Lus, MA. Tel.: (98) 3232 9298; aconeruq@bol.com.br
Associao de Mulheres do Bico do Papagaio (Asmubip) Rua
Oswaldo Cruz 501, Centro, 77925-000, So Miguel do Tocantins, TO. Tel.:
(63) 3447 1122
Associao em reas de Assentamento no Estado do Maranho
(Assema) Rua Ciro Rego 218, Centro, 65725-000, Pedreiras, MA. Tel.: (99)
3642 2061; gentedefbra@assema.org.br; www.assema.org.br
Associao Maranhense para a Conservao da Natureza (Amavida)
Rua 07, Quadra I, Casa 01, Jardim Bela Vista, 65073-200, So Lus, MA. Tel.:
(98) 3246 6679; amavida@amavida.org.br; www.amavida.org.br
Associao Mineira de Defesa do Meio Ambiente (Amda) Av. lva-
res Cabral 1.600, 11 andar, Santo Agostinho, 30170-001, Belo Horizonte,
MG. Tel.: (31) 3291 0661; atendimento@amda.org.br; www.amda.org.br
Associao Terra Indgena Xingu (Atix) Av. Mato Grosso 607, Centro,
78640-000, Canarana, MT. Tel.: (66) 3478 1948; atix@brturbo.com.br
Associao Wyty-Cate das Comunidades Timbira do Maranho
e Tocantins (Wyty-Cate) Rua Odolfo Medeiros, 1600 (sobrado),
Centro, 65980-000, Carolina, MA. Tel.: (99) 3531 3381/2030; wytycate@
gmail.com
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 529
DIRETRIO
Associao Xavante War Setor de Clube Sul, Trecho 2, Lote 2/41, Bloco
B, Sala 223, 70200-002, Braslia, DF. Tel.: (61) 3425 3277; xavantewara@
uol.com.br
Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas (CAA/NM)
Rua Anhanguera 681, Cndida Cmara, 39401-034, Montes Claros,
MG. Tel.: (38) 4009 1513; caa@caa.org.br; secretaria@caa.org.br; www.
caa.org.br
Centro de Assessoria aos Movimentos Populares do Vale do Jequiti-
nhonha (Campo-Vale) Rua Washington Costa 92, Saudade, 39650-000,
Minas Novas, MG. Tel.: (33) 3764 1388; campo@uai.com.br
Centro de Direitos Humanos de Palmas (CDHP) 306 Sul, Al. 4, AI 2,
77021-046; Palmas, TO. Tel.: (63) 3215 3309; cdhp@uol.com.br
Centro Piauiense de Ao Cultural (Cepac) Rua So Joo 867, Centro
Sul, 64001-360, Teresina, PI. Tel.: (86) 3223 7400; cepac.pi@uol.com.br
CI Programa Cerrado SAUS, Quadra 3, Lote 2, Bloco C, Ed. Business
Point, 7 andar, Salas 714-722, 70070-934, Braslia, DF. Tel.: (61) 3226
2491; info@conservacao.org; www.conservacao.org (ver Brasil, Conservao
Internacional)
CTI-MA Rua Odolfo Medeiros 1600 (sobrado), Centro, 65980-000, Caro-
lina, MA. Tel.: (99) 3531 2030; cti-ma@trabalhoindigenista.org.br; www.
trabalhoindigenista.org.br (ver Brasil, Centro de Trabalho Indigenista)
ECOA, Ecologia e Ao Rua 14 de julho 3.169, Centro, 79002-333,
Campo Grande, MS. Tel.: (67) 3324 3230; ecoa@riosvivos.org.br; www.
riosvivos.org.br; www.ecoa.org.br
Fase Programa Mato Grosso Rua 06, Quadra 03, Casa 18, Monte
Verde, 78200-000, Cceres, MT. Tel.: (65) 3223 4615; fasecac@terra.com.
br; www.fase.org.br (ver Brasil, Fase Nacional)
Fundao Centro Brasileiro de Referncia e Apoio Cultural (Cebrac)
SCLN 202, Bloco B, Sala 106, 70832-525, Braslia, DF. Tel.: (61) 3327 8085;
cebrac@cebrac.org.br; www.cebrac.org.br
Fundao Neotrpica do Brasil Rua 02 de Outubro, 165, Recreio,
79290-000, Bonito, MS. Tel.: (67) 3255 3462; neotropica@fundacaoneo-
tropica.org.br; www.fundacaoneotropica.org.br
Fundao Pr-Cerrado (FPC) Av. H esq. c/ Rua 72, Parque da Criana,
Jardim Gois, 74810-070, Goinia, GO. Tel.: (62) 3237 3000; procerrado@
fpc.org.br; www.fpc.org.br
Fundao Pr-Cerrado em Palmas (FPC-TO) Av. Juscelino Kubitschek,
121, Ed. Augusto, Sala 15, Centro, 77006-014, Palmas, TO. Tel.: (63) 3215
8000; nucleopalmas@fpc.org.br; www.fpc.org.br
Fundao Pr-Natureza (Funatura) SCLN 107, Bloco B, Salas 201/207,
70743-520, Braslia, DF. Tel.: (61) 3274 5449; funatura@funatura.org.br;
www.funatura.org.br
Instituto Brasil Central (Ibrace) Av. Anhanguera, Quadra 74, Lote
9/11, Setor Central, Ed. Palcio do Comrcio, 10 andar, Sala 1008, 74043-
010, Goinia, GO. Tel.: (62) 3223 6662/3225 5918; ibrace@cultura.com.
br; www.ibracego.org.br
Instituto Centro de Vida (ICV) Av. Jos Estevam Torquarto 999,
Jardim Vitria, 78055-731, Cuiab, MT. Tel.: (65) 3641 1550/5382; icv@
icv.org.br; www.icv.org.br
Instituto de Educao e Pesquisa Ambiental Planeta Verde
(Proverde) Av. Paulo Roberto Scandar 1.132, Conj. 3, Laranjeiras,
15900-000, Taquaritinga, SP. Tel.: (16) 3253 3500; proverde@terra.com.
br; www.planetaverde.org.br
Instituto de Formao e Assessoria Sindical Rural Sebastio Rosa
da Paz (Ifas) Rua 77, n. 85, Centro, 74055-090, Goinia, GO. Tel.: (62)
3213 3033; ifas@ifas.org.br; www.ifas.org.br
Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado /Ecocentro (Ipec)
GO 225 Km 02, Fazenda Mar e Guerra, Caixa Postal 45, 72980-000,
Pirenpolis, GO. Tel.: (62) 3331 1568/2111; ipec@ecocentro.org; www.
ecocentro.org
Instituto Sociedade, Populao e Natureza (ISPN) SCLN 202,
Bloco B, Salas 101-104, 70832-525, Braslia, DF. Tel.: (61) 3327 8085;
institutospn@ispn.org.br; www.ispn.org.br
ISA Canarana Rua Redentora 362, 78640-000, Canarana, MT. Tel.:
(66) 3478 3491; isacanarana@socioambiental.org; www.socioambiental.
org/prg/xng.shtm (ver Brasil, Instituto Socioambiental)
ONG Ambientalista Roncador Araguaia (Ongara) Rua D, 35,
Jardim Tropical, 78635-000, gua Boa, MT. Tel.: (66) 3468 3685; ongara@
bol.com.br
Pequi - Pesquisa e Conservao do Cerrado SCLN 408, Bloco E, Sala
201, Asa Norte, 70865-550, Braslia, DF. Tel.: (61) 3037 7876; pequi@pequi.
org.br; www.pequi.org.br
TNC Cerrado SRTVS, Quadra 701, Conj. D, Bloco A, Loja 246, 70340-
907, Braslia, DF. Tel.: (61) 3421 9100; tnc@tnc.org.br; www.tnc.org.br
(ver Brasil, TNC Brasil)
Centros de Pesquisa e Acadmicos
Departamento de Ecologia do Instituto de Cincias Biolgicas
(UnB) Caixa Postal 04457, Campus Universitrio Darcy Ribeiro, UnB,
70910-900, Braslia, DF. Tel: (61) 3307 2592; ecl@unb.br; hari@unb.br;
www.unb.br/ib/ecl
Embrapa Cerrados Rodovia Braslia/Fortaleza, BR 020, Km 18, 73310-
970, Planaltina, DF. Tel.: (61) 3388 9898; sac@cpac.embrapa.br; www.cpac.
embrapa.br (ver Brasil, Embrapa)
Instituto de Estudos Scio-Ambientais (Iesa/UFG) Caixa Postal 131,
Campus II, Samambaia, 74001-970, Goinia, GO. Tel: (62) 3521 1077/1184;
deus@iesa.ufg.br; ratts@iesa.ufg.br; www.iesa.ufg.br
Ncleo de Referncia em Cincias Ambientais do Trpico Ecotonal
do Nordeste (Tropen/UFPI) Av. Universitria 1.310, Campus da Ininga,
64049-550, Teresina, PI. Tel.: (86) 3215 5566; tropen@ufpi.br; www.ufpi.
br/pro_reitoria_subsetor.php?id=41
Universidade do Estado do Mato Grosso /Campus Universitrio
Nova Xavantina (Unemat/Nova Xavantina) Rod. BR-158 km 148,
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
DIRETRIO
530
Caixa Postal 8, 78690-000, Nova Xavantina, MT. Tel.: (66) 3438 1224;
biologia.nxa@unemat.br; www.unemat.br
MATA ATLNTICA
Redes da Sociedade Civil
Rede Alerta contra o Deserto Verde Rua Graciano Neves 377, 2 andar,
29015-330, Vitria, ES. Tel.: (27) 3223 7436; redealerta@grupos.com.br
Rede de ONGs da Mata Atlntica (RMA) SCRS 515, Bloco B, 527,
2 andar (entrada pela W 2), 70381-520, Braslia, DF. Tel.: (61) 3445
2315/1907; comunicacao@rma.org.br; www.rma.org.br
Organizaes da Sociedade Civil
Associao de Preservao do Meio Ambiente do Alto Vale do
Itaja (Apremavi) Rua XV de Novembro 118, Edifcio Marcon, Sala 27,
89160-000, Rio do Sul, SC. Tel.: (47) 3521 0326; info@apremavi.org.br;
www.apremavi.org.br
Associao de Programas em Tecnologia Alternativa (Apta) Rua
Bartovino Costa 331, Esplanada, 29701-020, Colatina, ES. Tel.: (27) 3721
9522; apta@veloxmail.com.br
Associao Gacha de Proteo ao Ambiente Natural (Agapan) Cx.
Postal 1.996, 90001-970, Porto Alegre, RS. Tel.: (51) 3333 3501/9912 0122;
agapan@agapan.org.br; www.agapan.org.br
Associao Mico-Leo-Dourado (AMLD) Caixa Postal 109.968, 28860-
970, Casimiro de Abreu, RJ. Tel.: (22) 2778 2025; micoleao@micoleao.org.
br; www.micoleao.org.br
Associao Mineira de Defesa do Meio Ambiente (Amda) Av. lva-
res Cabral 1.600, 11. andar, Santo Agostinho, 30170-001, Belo Horizonte,
MG. Tel.: (31) 3291 0661; atendimento@amda.org.br; www.amda.org.br
Associao Nacional de Ao Indigenista (Ana) Rua das Laranjeiras
26, 1 andar, Pelourinho, 40026-230, Salvador, BA. Tel.: (71) 3321 0259;
anai@anai.org.br; www.anai.org.br
Associao Potiguar Amigos da Natureza (Aspoan) R. Pedro
Fonseca Filho 8.989, Ponta Negra, 59090-080, Natal, RN. Tel.: (84) 3219
4000; aspoan@gmail.com
Associao Quilombo de Ivaporunduva Praa Nossa Senhora da Guia
103, 11960-000, Eldorado, SP. Tel.: (13) 3879 5000/5001; ivaporunduva@
hotmail.com
Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata (CTA-ZM)
Caixa Postal 128, 36570-000, Viosa, MG. Tel.: (31) 3892 2000; cta@
ctazm.org.br; www.ctazm.org.br
CI Programa Mata Atlntica Av. Getlio Vargas 1.300, 7 andar,
30112-021, Belo Horizonte, MG. Tel.: (31) 3261 3889; info@conservacao.
org; www.conservacao.org (ver Brasil, Conservao Internacional)
Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlntica
(CNRBMA) Rua do Horto 931, 02377-070, So Paulo, SP. Tel.: (11) 6232
5728; cnrbma@uol.com.br; www.rbma.org.br
ECOA, Ecologia e Ao Rua 14 de julho 3.169, Centro, 79002-333,
Campo Grande, MS. Tel.: (67) 3324 3230; ecoa@riosvivos.org.br; www.
riosvivos.org.br; www.ecoa.org.br
Fase Programa Esprito Santo Rua Graciano Neves 377, 2 andar,
29015-330, Vitria, ES. Tel.: (27) 3223 7436/3222 6330; fasees@terra.com.
br; www.fase.org.br/_reg_espsanto (ver Brasil, Fase Nacional)
Federao de Entidades Ecologistas Catarinenses (Feec) Caixa
Postal 5.229, Trindade, 88040-970, Florianpolis, SC. Tel.: (48) 3233 5491;
feec@feec.com.br; www.feec.com.br
Fundao Biodiversitas Rua Ludgero Dolabela 1.021, 7o andar, Gutier-
rez, 30430-130, Belo Horizonte, MG. Tel.: (31) 2129 1300; biodiversitas@
biodiversitas.org.br; www.biodiversitas.org.br
Fundao Brasileira para a Conservao da Natureza (FBCN) Rua
Miranda Valverde 103, Botafogo, 22281-000, Rio de Janeiro, RJ. Tel.: (21)
2537 7565; fbcnbr@veloxmail.com.br; www.fbcn.org.br
Fundao Gaia Rua Jacinto Gomes 39, Santana, 90040-270, Porto
Alegre, RS. Tel.: (51) 3331 3105/3330 3567; sede@fgaia.org.br; www.
fgaia.org.br
Fundao O Boticrio de Proteo Natureza Rua Gonalves
Dias 225, 80240-340, Curitiba, PR. Tel: (41) 3340 2644/2646; contato@
fundacaoboticario.org.br; www.fundacaoboticario.org.br
Fundao SOS Mata Atlntica Rua Manoel da Nbrega 456, Paraso,
04001-001, So Paulo, SP. Tel.: (11) 3055 7888; comunicacao@sosmatatlan-
tica.org.br; info@sosma.org.br; www.sosmataatlantica.org.br
Grupo Ambientalista da Bahia (Gamb) Av. Juracy Magalhes Jnior
768, Sala 102, Ed. RV Center, Rio Vermelho, 41940-060, Salvador, BA. Tel.:
(71) 3240 6822; gamba@gamba.org.br; www.gamba.org.br
Instituto Ambiental de Estudos e Assessoria Rua Bill Cartaxo
165, Alagadio Novo, 60831-291, Fortaleza, CE. Tel.: (85) 3276 3185;
geovana@fc.br
Instituto de Estudos Scio-Ambientais do Sul da Bahia (Iesb) Rua
Major Homen Del Rey 147, Cx. Postal 84, Cidade Nova, 45652-180, Ilhus,
BA. Tel.: (73) 3634 2179; iesb@iesb.org.br; www.iesb.org.br
Instituto de Pesquisas Ecolgicas (IP) Rod. Dom Pedro I, km 47,
Caixa Postal 47, 12960-000, Nazar Paulista, SP. Tel.: (11) 4597 1327; ipe@
ipe.org.br; www.ipe.org.br
Instituto para Gesto em Tecnologias Apropriadas e Ecologia (GTAE)
Rua Manuel Lucio 419, Primavera, 57304-350, Arapiraca, AL. Tel.: (82)
3530 1503; mgagrobio@ig.com.br; mgagrobio@hotmail.com
Instituto Terra Caixa Postal 005, 35200-000, Aimors, MG. Tel.: (33)
3267-2302; iterra@institutoterra.org; www.institutoterra.org
ISA Eldorado Residencial Jardim Figueira 55, 11960-000, Eldorado, SP.
Tel.: (13) 3871 1697; www.socioambiental.org/prg/rib.shtm (ver Brasil,
Instituto Socioambiental)
Mater Natura Instituto de Estudos Ambientais - Rua Lamenha Lins 1080,
Rebouas, 80250-020, Curitiba, PR. Tel.: (41) 3013 7185; info@maternatura.
org.br; www.maternatura.org.br
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 531
DIRETRIO
Movimento dos Ameaados por Barragens no Vale do Ribeira
(Moab) Rua Lencio Marques Freitas 63, Centro, 11960-000, Eldorado,
SP. Tel.: (13) 3871 1877; moabaxe@bol.com.br
Movimento Nossa So Paulo: Outra Cidade Caixa Postal 11.222,
05422-970, So Paulo, SP. www.nossasaopaulo.org.br
Movimento Popular Ecolgico (Mopec) Rua Rio Grande do Norte 10, 18
do Forte, 49072-600, Aracaju, SE. Tel.: (79) 3236 4288; mopec@ig.com.br
Movimento Vida Nova de Vila Velha (Movive) Rua Piau 19, Praia
da Costa, 29101-320, Vila Velha, ES. Tel.: (27) 3229 8822; movive@movive.
org.br; adm@movive.org.br; www.movive.org.br
Ncleo Amigos da Terra Brasil Rua Carlos Trein Filho 7, Auxiliadora,
90450-120, Porto Alegre, RS. Tel.: (51) 3332 8884; amigosdaterra@
natbrasil.org.br; www.natbrasil.org.br
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educao Ambiental
(SPVS) Rua Isaas Bevilaqua 999, Mercs, 80430-040, Curitiba, PR. Tel.:
(41) 3339 4638; spvs@spvs.org.br; www.spvs.org.br
Sociedade Nordestina de Ecologia (SNE) Av. Visconde de Suassuna
923, Sala 502/503, Boa Vista, 50050-540, Recife, PE. Tel.: (81) 3231 5242;
sne@sne.org.br; www.sne.org.br
TNC Mata Atlntica Alameda Jlia da Costa 1.240, Bigorrilho, 80730-
070, Curitiba, PR. Tel.: (41) 2111 8777; tnc@tnc.org.br; www.tnc.org.br
(ver Brasil, TNC Brasil)
Centros de Pesquisa e Acadmicos
Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste (Cepan) Rua Nogueira
de Souza 190/102, Pina, 51110-110, Recife, PE. Tel.: (81) 3325 4679;
cepan@cepan.org.br; www.cepan.org.br
Centro Universitrio Senac /Campus Santo Amaro Av. Eng. Eusbio
Stevaux 823, Santo Amaro, 04696-000, So Paulo, SP. Tel.: (11) 5682 7300;
campussantoamaro@sp.senac.br; www.sp.senac.br
Instituto de Pesquisas Jardim Botnico do Rio de Janeiro Pro-
grama Mata Atlntica (JBRJ) Rua Pacheco Leo 915, 22460-030, Rio
de Janeiro, RJ. Tel.: (21) 3204 2071/2070/2068; jbrj@jbrj.gov.br; www.jbrj.
gov.br (ver Brasil, JBRJ)
Museu de Biologia Prof. Mello Leito (MBML) Avenida Jos Ruschi
04, Centro, 29650-000 Santa Teresa, ES. Tel.: (27) 3259 1182; ruschi@
terra.com.br
Ncleo Interdisciplinar do Meio Ambiente (Nima/UFBA) Rua
Baro de Geremoabo s./n., Instituto de Qumica, Ondina, 40170-290,
Salvador, BA. Tel.: (71) 3263 6827/3237 4024; nima@ufba.br; nima@
laquam.qui.ufba.br
PAMPA
Redes da Sociedade Civil
Associao Gacha de Proteo ao Ambiente Natural (Agapan) Cx.
Postal 1.996, 90001-970, Porto Alegre, RS. Tel.: (51) 3333 3501/9912 0122;
agapan@agapan.org.br; www.agapan.org.br
Ncleo Amigos da Terra Brasil Rua Carlos Trein Filho 7, Auxiliadora,
90450-120, Porto Alegre, RS. Tel.: (51) 3332 8884; amigosdaterra@
natbrasil.org.br; www.natbrasil.org.br
Centros de Pesquisa e Acadmicos
Fundao Zoobotnica do Rio Grande do Sul (FZB) R. Dr. Salvador
Frana 1.427, Jardim Botnico, 90690-000, Porto Alegre, RS. Tel.: (51) 3336
3281; comunica@fzb.rs.gov.br; www.fzb.rs.gov.br
PANTANAL
Redes da Sociedade Civil
Frum Matogrossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento
(Formad) Rua Carlos Gomes 20, Aras, 78005-630, Cuiab, MT. Tel.: (65)
3324 0893; formad@terra.com.br; www.formad.org.br
Rede Aguap Rede Pantanal de Educao Ambiental Rua 14
de Julho 3.169, Centro, 79002-333, Campo Grande, MS. Tel.: (67) 3324
3230/9109; jornalismo@riosvivos.org.br; ecojornalistapantanal@gmail.
com; www.redeaguape.org.br
Organizaes da Sociedade Civil
CI Programa Pantanal Rua Paran 32, Jardim dos Estados, 79021-
220, Campo Grande, MS. Tel.: (67) 3326 0002; info@conservacao.org; www.
conservacao.org (ver Brasil, Conservao Internacional)
ECOA, Ecologia e Ao Rua 14 de julho 3.169, Centro, 79002-333,
Campo Grande, MS. Tel.: (67) 3324 3230; ecoa@riosvivos.org.br; www.
riosvivos.org.br; www.ecoa.org.br
Ecotrpica Rua 3, n 391, Boa Esperana, 78068-370, Cuiab, MT. Tel.:
(65) 3052 6615; ecotropica@ecotropica.org.br; www.ecotropica.org.br
Fase Programa Mato Grosso Rua 06, Quadra 03, Casa 18, Monte
Verde, 78200-000, Cceres, MT. Tel.: (65) 3223 4615; fasecac@terra.com.
br; www.fase.org.br (ver Brasil, Fase Nacional)
Instituto Brasileiro de Inovaes Pr-Sociedade Saudvel / Centro-
Oeste (Ibiss/CO) Rua Antonio Maria Coelho 207, Vila Planalto, 79009-
380, Campo Grande, MS. Tel.: (67) 3325 6171; ibiss.co@brturbo.com.br
Instituto Centro de Vida (ICV) Av. Jos Estevam Torquarto 999,
Jardim Vitria, 78055-731, Cuiab, MT. Tel.: (65) 3641 1550/5382; icv@
icv.org.br; www.icv.org.br
Mulheres em Ao no Pantanal (Mupan) Rua Itaja 2.860, Bairro
Antnio Vendas, 79003-150, Campo Grande, MS. Tel.: (67) 3341 5990;
aureagar@terra.com.br
Centros de Pesquisa e Acadmicos
Embrapa Pantanal Rua 21 de Setembro 1.880, Nossa Senhora de
Ftima, 79320-900, Corumb, MS. Tel.: (67) 3233 2430; sac@cpap.embrapa.
br; www.cpap.embrapa.br (ver Brasil, Embrapa)
Ncleo de Estudos Rurais e Urbanos (Neru/UFMT) Av. Fernando
Corra da Costa s./n., ICHS, Sala 46, Coxip, 78060-900, Cuiab, MT. Tel:
(65) 3615 8487; neru@cpd.ufmt.br; www.ufmt.br
Universidade do Estado de Mato Grosso /Campus Universitrio
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
DIRETRIO
532
de Cceres (Unemat/Cceres) Av. So Joo s./n., Cavalhada, 78200-
000, Cceres, MT. Tel.: (65) 3221 0522; coord-regionalcaceres@unemat.
br; www.unemat.br
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)/Campus
Universitrio Caixa Postal 549, 79070-900, Campo Grande, MS. Tel.:
(67) 3345 7000/7010; reitoria@nin.ufms.br; www.ufms.br
ZONA COSTEIRA
Organizaes da Sociedade Civil
Associao de Proteo a Ecossistemas Costeiros (Aprec) Rua Dr.
Macrio Picano 825, Maravista, Itaipu, 24342-330, Niteri, RJ. Tel.: (21)
2609 8573; aprec@aprec.org.br; www.aprec.org.br
Associao Guajiru - Cincia, Educao e Meio Ambiente Av.
Presidente Afonso Pena 1713, Bessa, 58035-030, Joo Pessoa, PB. Tel.: (83)
3245 3162; associacao.guajiru@gmail.com; www.guajiru.org
Centro Cultural So Sebastio Tem Alma Rua Expedicionrio Brasi-
leiro 219, Centro, 11600-000, So Sebastio, SP. Tel.: (12) 3892 1439/4186;
povosdomar@povosdomar.com.br; www.povosdomar.com.br
Centro Nacional de Conservao da Baleia Franca Praia de Itapirub
Norte, 88780-000, Imbituba, SC. Tel.: (48) 3255 2922; info@baleiafranca.
org.br; www.baleiafranca.org.br
CI Programa Marinho Rua das Palmeiras 451, 45900-000, Caravelas,
BA. Tel.: (73) 3297 1499; info@conservacao.org; www.conservacao.org (ver
Brasil, Conservao Internacional)
Fundao Pr-Tamar Caixa Postal 2.219, 41950-970, Rio Vermelho,
Salvador, BA. Tel.: (71) 3676 1020/1045; protamar@tamar.org.br; www.
projetotamar.org.br (veja no site Sedes Regionais e Bases de Campo, distri-
budas por nove Estados)
Instituto Baleia Jubarte Rua Baro do Rio Branco 26, Centro, 45900-
000, Caravelas, BA. Tel.: (73) 3297 1320/1340; ibj.caravelas@baleiajubarte.
com.br; www.baleiajubarte.com.br
Instituto Ecolgico Aqualung Rua do Russel 300, Sala 401, Glria,
22210-010, Rio de Janeiro, RJ. Tel: (21) 2558 3428/3429; instaqua@uol.
com.br; www.institutoaqualung.com.br
Instituto Pharos Av. Yojiro Takaoka 4.384, Loja 17, CV 1811, Alphaville,
06541-038, Santana de Parnaba, SP. Tel.: (11) 4152 8491; faleconosco@
institutopharos.org; www.institutopharos.org
Instituto Terramar Rua Pinho Pessoa 86, Joaquim Tvora, 60135-170,
Fortaleza, CE. Tel.: (85) 3226 2476; terramar@terramar.org.br ; www.
terramar.org.br
Movimento Vida Nova de Vila Velha (Movive) Rua Piau 19, Praia
da Costa, 29101-320, Vila Velha, ES. Tel.: (27) 3229 8822; movive@movive.
org.br; adm@movive.org.br; www.movive.org.br
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educao Ambiental
(SPVS) Rua Isaas Bevilaqua 999, Mercs, 80430-040, Curitiba, PR. Tel.:
(41) 3339 4638; spvs@spvs.org.br; www.spvs.org.br
Centros de Pesquisa e Acadmicos
Centro de Cincias Tecnolgicas da Terra e do Mar (CTTMar/Univali)
Rua Uruguai 458, Bloco 19, 88302-202, Itaja, SC. Tel.: (47) 3341 7541;
direcao.cttmar@univali.br; www.univali.br/cttmar
Centro de Estudos Costeiros, Limnolgicos e Marinhos (Ceclimar/
UFRGS) Av.Tramanda 976, Centro, 95625-000, Imb, RS. Tel.: (51) 3627
1309; ceclimar@ufrgs.br; www.ufrgs.br/ceclimar
Centro de Estudos do Mar (CEM/UFPR) Av. Beira-Mar s./n., Balnerio
Pontal do Sul, Caixa Postal 50002, 83255-000, Pontal do Paran, PR. Tel.:
(41) 3455 1333; direcaocem@ufpr.br; www.cem.ufpr.br
Departamento de Oceanografa e Hidrologia /Instituto de Geoci-
ncias (Igeo/Uerj) Rua So Francisco Xavier 524, 4 andar, Bloco E, Sala
4.018, Maracan, 20550-013, Rio de Janeiro, RJ. Tel.: (21) 2587 7689/7692;
oceano@uerj.br; www2.uerj.br/~oceano/index.html
Fundao Universidade Federal do Rio Grande (Furg) /Campus
Carreiros Av. Itlia, km 8, s./n., 96201-900, Rio Grande, RS. Tel.: (53)
3233 6500; propesp@furg.br; www.furg.br
Grupo de Estudos de Sirnios, Cetceos e Quelnios (GESCQ) Rua
Amaro Soares de Andrade 1.134, Sala 302, Piedade, 54410-070, Jaboato
dos Guararapes, PE. Tel.: (81) 2126 8859; gescq@hotmail.com; gescqpe@
gmail.com
Instituto de Cincias do Mar (Labomar/UFC) Av. da Abolio 3.207,
Meireles, Cear, 60165-081. Tel.: (85) 3242 6422; parente@labomar.ufc.
br; www.labomar.ufc.br
Instituto de Pesquisas Jardim Botnico do Rio de Janeiro Pro-
grama Zona Costeira (JBRJ) Rua Pacheco Leo 915, 22460-030, Rio
de Janeiro, RJ. Tel.: (21) 3204 2071/2070/2068; jbrj@jbrj.gov.br; www.
jbrj.gov.br (ver Brasil, JBRJ)
Instituto Oceanogrfco (IO/USP) Praa do Oceanogrfco 191, Cidade
Universitria, 05508-120, So Paulo, SP. Tel.: (11) 3091 6501; diretoria@
io.usp.br; www.io.usp.br
Projeto Ecossistemas Costeiros /Instituto de Biocincias (IB/USP)
Rua do Mato, Trav. 14, n 321, Cid. Universitria, 05508-900, So Paulo,
SP. Tel.: (11) 3091 7540; fberchez@ib.usp.br; www.ib.usp.br/ecosteiros
Alguma sugesto?
Escreva para almanaquebrasilsa@
socioambiental.org ou pelo correio: ISA,
Av. Higienpolis, 901,
01238-001, So Paulo, SP.
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 533
GLOSSRIO&SIGLRIO
a.C. Antes de Cristo.
ABSORO/EMISSO DE CARBONO O ciclo do carbono em nvel global
constitudo por fuxos e depsitos de carbono. Centenas de milhares de
milhes de toneladas de carbono na forma de CO2 so absorvidas a partir da
atmosfera ou emitidas para ela, anualmente, atravs de processos naturais.
Estes fuxos incluem a fotossntese, a respirao e a morte das plantas, assim
como a absoro e a libertao de CO2 pelos oceanos.
AO ANTRPICA Qualquer ao do homem que provoque modifca-
es ou tenha conseqncias nos ambientes naturais (por exemplo, inds-
tria, agricultura, minerao, transportes, construo, habitaes etc.).
ACP Ao Civil Pblica.
AGENDA 21 Roteiro de aes que visam ao desenvolvimento sustentvel
assinado na Conferncia Rio-92 realizada em 1992, que teve a participao
de 179 pases (ver pg. 497).
AGROBIODIVERSIDADE Da mesma forma que a biodiversidade encobre
trs nveis de diversidade, dos genes, das espcies e dos ecossistemas, a
agrobiodiversidade se refere diversidade gentica das espcies cultivadas
ou criadas (plantas e animais), a sua diversidade em nvel de espcies e a
diversidade das paisagens agrcolas. Essa diversidade, criada e mantida pelo
homem, resulta tanto de processos biolgicos como sociais e culturais.
AGRONEGCIO Qualquer atividade de negcio relacionada com
produo, preparo e comercializao de produtos agropecurios (ver
pg. 418).
AGROTXICO Produto qumico destinado a combater as pragas da
lavoura (insetos, fungos etc.). O uso indiscriminado prejudica os animais
e o prprio homem.
GUA DE REUSO Processo pelo qual a gua, tratada ou no, reutilizada
para o mesmo ou outro fm.
AIDS Sndrome de Imunodefcincia Adquirida, sigla em ingls.
AJUSTAMENTO DE CONDUTA Procedimento por meio do qual o
Ministrio Pblico obtm de rgos pblicos, empresas ou particulares o
compromisso de prevenir ou reparar danos causados ao meio ambiente, ao
patrimnio histrico, ao errio pblico ou aos consumidores. O instrumento
que consolida tal compromisso, estabelecendo condies e prazos para o
cumprimento da obrigao, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).
ALCALIDE Substncia derivada de plantas que contm em sua frmula
basicamente nitrognio, oxignio, hidrognio e carbono. Geralmente so
slidos brancos com alguma ao teraputica (anestsicos, analgsicos,
psico-estimulantes, neuro-depressores etc.), como, por exemplo, a
cafena (do caf), a cocana (da coca), a pilocarpina (do jaborandi), a
papana (do mamo).
AM Amazonas.
AMAZNIA LEGAL Foi instituda atravs de dispositivo de lei para fns
de planejamento econmico da regio amaznica. Engloba os estados da
regio Norte (Acre, Amazonas, Amap, Par, Rondnia, Roraima e Tocan-
tins), mais o Mato Grosso (regio Centro-Oeste), e parte do Maranho, a
oeste do meridiano de 44 (regio Nordeste) (ver pg. 100).
AMBIENTALISMO Movimento social em defesa do meio ambiente e
da qualidade de vida (ver ambientalista).
AMBIENTALISTA Termo criado para traduzir environmentalist, surgido
nos anos 1980 para nomear a pessoa interessada ou preocupada com
problemas ambientais e a qualidade do meio ambiente ou engajada em
movimentos de defesa do meio ambiente.
AMPLITUDE TRMICA Diferena entre a temperatura mnima e mxima
de uma determinada regio em um perodo.
ANA Agncia Nacional de guas.
ANEEL Agncia Nacional de Energia Eltrica.
ANTROPOGNICO Ver ao antrpica.
APA rea de Proteo Ambiental.
AP Amap.
APP rea de Preservao Permanente.
AQFERO Formao porosa de rocha permevel, areia ou cascalho,
capaz de armazenar e fornecer quantidades signifcativas de gua.
ARCO DO DESMATAMENTO So 500 mil km2 de terras que vo do
leste e sul do Par em direo oeste, passando por Mato Grosso, Rondnia
e Acre, onde a fronteira agrcola avana em direo foresta e onde esto
os maiores ndices de desmatamento da Amaznia.
REA DE MANANCIAIS Ver Mananciais.
REA DE PRESERVAO PERMANENTE rea prevista em lei que
deve ser reservada nas propriedades privadas, com a funo ambiental
de preservar os recursos hdricos, a paisagem, a estabilidade geolgica, a
biodiversidade, o fuxo gnico de fauna e fora, proteger o solo e assegurar
o bem estar das populaes humanas (ver pg. 274).
REA DE PROTEO AMBIENTAL (APA) Unidade de conservao de
uso sustentvel, com certo grau de ocupao humana, dotada de atributos
abiticos, biticos, estticos e culturais especialmente importantes para
a qualidade de vida e o bem-estar das populaes humanas, e tem como
objetivos bsicos proteger a diversidade biolgica, disciplinar o processo de
ocupao e assegurar a sustentabilidade do uso (ver pg. 268).
REAS PROTEGIDAS So espaos especialmente protegidos por lei, por
sua importncia ambiental, social ou cultural (ver pg. 261).
ARIE rea de Relevante Interesse Ecolgico.
ARPA Projeto reas Protegidas da Amaznia.
ASSENTAMENTO AGROEXTRATIVISTA Resultado da luta dos se-
ringueiros pela posse da terra, uma modalidade de reconhecimento
e regularizao das suas posses coletivas, que pode ser feita pelo rgo
fundirio estadual ou federal, na forma de um Projeto de Assentamento
Agroextrativista (PAE).
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
GLOSSRIO & SIGLRIO
534
ASSENTAMENTO FLORESTAL Forma de assentamento voltada para
a produo sustentvel. O modelo alia produo familiar, preservao
ambiental e recuperao de reas degradadas. Os assentamentos tm
como base o manejo da madeira e de ervas medicinais, frutas e animais,
o plantio de subsistncia e recuperao das matas.
ASSIMILACIONISMO (POVOS INDGENAS) Ideologia que regeu as
relaes do Estado brasileiro com os povos indgenas at 1988, pregando
a sua integrao sociedade nacional com base em leis e polticas que
se traduziam na negao dos seus direitos, sob a justifcativa de que, ao
serem assimilados, perderiam a condio de ndios, no mais fazendo jus
a um tratamento diferenciado.
ASSOREAMENTO Processo de elevao de um rio ou qualquer outro
corpo dgua por deposio de sedimentos.
ATERRO SANITRIO onde os resduos slidos domiciliares so destina-
dos, segundo critrios de engenharia e normas operacionais especfcas, que
permitem a confnao segura do lixo em termos de controle da poluio
ambiental e proteo ao meio ambiente (ver pg. 403).
ATIVIDADE TECTNICA o deslocamento que ocorre na superfcie de
um corpo celeste devido ao movimento do material que est subjacente
superfcie, ou crosta.
AVINA Fundao Sua pelo Meio Ambiente.
BA Bahia.
BACIA HIDROGRFICA Conjunto de terras drenadas por um rio principal
e seus afuentes, onde normalmente a gua se escoa dos pontos mais altos
para os mais baixos.
BALANO SOCIAL um demonstrativo publicado anualmente pela
empresa reunindo um conjunto de informaes sobre os projetos, bene-
fcios e aes sociais dirigidas aos empregados, investidores, analistas
de mercado, acionistas e comunidade. tambm um instrumento
estratgico para avaliar e multiplicar o exerccio da responsabilidade
social corporativa.
BIOCIDA Elemento qumico que envenena organismos vivos, podendo
matar muitos tipos diferentes de organismos. Pode se acumular no ambien-
te, causando problemas agudos ou crnicos aos seres vivos.
BIODIVERSIDADE formada pelo conjunto de espcies de uma regio
(plantas e animais).
BIOMA Conjunto de ecossistemas terrestres caracterizados por tipos
fsionmicos semelhantes de vegetao. O Brasil est dividido em sete
biomas: Amaznia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlntica, Pampa, Pantanal
e Zona Costeira.
BIOPIRATARIA Roubo de animais, plantas e conhecimentos tradicionais
para fns de explorao comercial sem o consentimento ou controle do pas
de origem e das comunidades locais.
BIOPROSPECO a explorao da diversidade biolgica em busca de
recursos genticos e bioqumicos de valor comercial. Eventualmente, usa o
conhecimento de comunidades indgenas ou tradicionais.
BIOTA Conjunto de espcies que habitam uma regio, incluindo desde
organismos unicelulares at plantas e animais de grande porte.
BIOTECNOLOGIA Em seu sentido mais amplo, compreende a manipu-
lao de microorganismos, plantas e animais objetivando a obteno de
processos e produtos de interesse.
BDNES Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social.
BNH Banco Nacional de Habitao.
CAMPOS DE ALTITUDE Vegetao tpica de ambientes montano e
alto-montano, com estrutura arbustiva e/ou herbcia que ocorre no cume
das serras com altitudes elevadas, predominando em clima subtropical
ou temperado. Caracteriza-se por uma ruptura na seqncia natural das
espcies presentes nas formaes fsonmicas circunvizinhas. As fores
prprias dessa vegetao so caracterizadas por endemismos.
CAPITANIAS HEREDITRIAS Sistema adotado pela coroa portuguesa
para estabelecer efetivo controle sobre o litoral do Brasil colonial. Seguindo
este objetivo, entre 1534 e 1536 foram doadas 14 reas (capitanias), com
50 ou 100 lguas de costa cada uma, para promover a ocupao do Brasil.
Apesar de hereditrias, as capitanias no eram propriedade absoluta dos
donatrios, pois as terras eram do Estado. Hereditrio era o poder do
donatrio de administrar a capitania.
CARBONO o elemento fundamental na constituio das molculas
orgnicas. Utilizado primariamente pelos seres vivos est presente no am-
biente, combinado ao oxignio e formando as molculas de gs carbnico
presentes na atmosfera ou dissolvidas nas guas dos mares, rios e lagos. O
carbono passa a fazer parte da biomassa atravs do processo da fotossn-
tese. Os seres fotossintetizantes incorporam o gs carbnico atmosfrico,
transformando-se em molculas orgnicas. O carbono tambm trocado
entre os oceanos e a atmosfera. Isto acontece em ambos os sentidos na
interao entre ar e a gua. A importncia do ciclo do carbono na natureza
pode ser melhor evidenciada pela estimativa de que todo o CO2 presente no
ar, caso no houvesse reposio, seria completamente exaurido em menos
de 20 anos, tendo em vista a fotossntese atual.
CARTAS CONSTITUCIONAIS Outra forma de se referir s constituies,
assim como o termo Carta Magna.
CCPY Comisso Pr-Yanomami.
CDB Conveno da Diversidade Biolgica.
CEBRAP Centro Brasileiro de Pesquisa e Planejamento.
CLULA-TRONCO um tipo de clula que pode se diferenciar e constituir
diferentes tecidos no organismo. Esta uma capacidade especial, porque as
demais clulas geralmente s podem fazer parte de um tecido especfco
(por exemplo: clulas da pele s podem constituir a pele). Outra capacidade
especial das clulas-tronco a auto-replicao, ou seja, elas podem gerar
cpias idnticas de si mesmas.
CERTIFICAO FLORESTAL Garantia dada ao consumidor de que
determinado produto originrio de manejo forestal ambientalmente
adequado, socialmente justo e economicamente vivel. Ou seja, os produtos
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 535
GLOSSRIO & SIGLRIO
que tm o selo da certifcao so aqueles produzidos com madeira de
forestas certifcadas.
CETESB Companhia de Tecnologia em Saneamento Ambiental de
So Paulo.
CFC Clorofuorcarbono.
CHESF Companhia Hidro Eltrica do So Francisco.
CIEL Center for International Environmental Law.
CITES Conveno sobre Comrcio Internacional das Espcies da Fauna e
Flora Selvagens em Perigo de Extino.
CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfco e Tecnolgico.
CNPT Conselho Nacional de Populaes Tradicionais.
CNS Conselho Nacional dos Seringueiros.
CO2 Dixido de carbono.
COICA Coordenao das Organizaes Indgenas da Bacia Amaznica
COLOCAO rea ocupada tradicionalmente pelo seringueiro, onde
mora com a famlia, cria animais, planta e extrai produtos da foresta,
principalmente o ltex da borracha, e que se caracteriza pelo uso susten-
tvel dos recursos naturais ali existentes.
COMARU Cooperativa Mista dos Produtores Extrativistas do Rio
Iratapuru.
COMMODITIES Designa um tipo de produto, geralmente agrcola
ou mineral, de grande importncia econmica internacional, j que
amplamente negociado entre importadores e exportadores. So produtos
em estado bruto, ou com pequeno grau de industrializao, de qualidade
uniforme e produzidos em grandes quantidades por vrios produtores.
Exemplos: borracha, ouro, ao, prata, cobre, soja e trigo.
COMPOSTO INORGNICO Substncias na qual os tomos de dois
ou mais elementos (com exceo do carbono) so combinados. Alguns
compostos so chamados de inorgnicos porque vm de minerais e no
de coisas vivas ou orgnicas.
CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente.
CONHECIMENTO TRADICIONAL Informao ou prtica individual
ou coletiva de comunidade indgena ou tradicional, com valor real ou
potencial, associada ao patrimnio gentico.
CONSERVAO EX SITU a conservao de componentes da diversidade
biolgica fora de seus habitats naturais.
CONSERVAO IN SITU a conservao de ecossistemas e habitats
naturais e a manuteno e recuperao de populaes viveis de espcies
em seus meios naturais e, no caso de espcies domesticadas ou cultivadas,
nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades caractersticas.
CONTAG Confederao Nacional dos Trabalhadores na Agricultura.
CONURBAO Aglomeraes urbanas contnuas que ultrapassam as
fronteiras municipais.
CORREDORES DE BIODIVERSIDADE Ver Corredores Ecolgicos.
CORREDORES ECOLGICOS Formados por uma rede de parques,
reservas e reas privadas, na qual um planejamento integrado de aes de
conservao pode garantir a sobrevivncia do maior nmero de espcies e o
equilbrio dos ecossistemas. Ele pode se estender por centenas de quilme-
tros e atravessar fronteiras estaduais nacionais para incluir reas protegidas,
habitats naturais remanescentes e suas comunidades ecolgicas.
CORTE SELETIVO Forma de explorao vegetal onde apenas algumas
rvores so derrubadas e retiradas. A foresta, com isso, mantm uma
densidade maior.
CPT Comisso Pastoral da Terra.
CTNBIO Comisso Tcnica Nacional de Biossegurana.
CTTMAR Centro de Cincias Tecnolgicas da Terra e do Mar da Univali.
CUT Central nica dos Trabalhadores.
CVRD Companhia Vale do Rio Doce.
d.C. Depois de Cristo.
DB Decibel.
DDT Diclorodifeniltricloretano.
DEFESO Perodo de restrio da pesca imposto pelo poder pblico,
medida que visa colaborar com a proteo e manuteno dos estoques
pesqueiros nos rios e litoral brasileiros. Ele acontece durante a piracema,
poca de reproduo dos peixes, na qual eles migram procurando guas
mais limpas e tranqilas e viram presas fceis dos pescadores.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL Aquele que harmoniza o cres-
cimento econmico com a promoo da eqidade social e preservao
do patrimnio natural, garantindo assim que as necessidades das atuais
geraes sejam atendidas sem comprometer o atendimento das necessi-
dades das geraes futuras (ver pg. 439).
DESFLORESTAMENTO Desmatamento (ver pg. 276).
DESMATAMENTO EVITADO Reduo na taxa de desmatamento
de uma rea, de modo que a taxa de desmatamento resultante seja
menor do que num cenrio sem interveno para diminuir o processo de
converso da foresta.
DF Distrito Federal.
DIREITO COLETIVO o direito cuja a titularidade no individualizada,
mas que pode ser determinada, como o direito de um povo indgena ou
comunidade quilombola ao reconhecimento dos seus territrios. Cabe ao
coletivo (povo ou comunidade) a defesa desse direito.
DIREITO DIFUSO Direito cuja titularidade indeterminada e no
individualizada, com objeto indivisvel, como o caso, por exemplo, do
direito ao ar limpo. um direito de todos, que no pertence a ningum
individualmente, mas cuja defesa pode caber a um indivduo, a um grupo
de cidados, a uma associao sem fns lucrativos ou ao Ministrio Pblico
em nome da sociedade.
DIREITO FUNDAMENTAL Conjunto institucionalizado de direitos e
garantias do ser humano que tem por fnalidade bsica o respeito sua
dignidade, por meio de sua proteo contra o arbtrio do poder estatal e
o estabelecimento de condies mnimas de vida e desenvolvimento da
personalidade humana.
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
GLOSSRIO & SIGLRIO
536
DNA cido Desoxirribonuclico.
DNOCS Departamento Nacional de Obras contra a Seca.
DNPM Departamento Nacional de Produo Mineral.
DOMESTICAO o processo de evoluo que faz com que uma planta
passe do estado silvestre independente da ao humana a uma relao
mais estreita com o homem e suas atividades agrcolas.
DRAGAGEM Servio de escavao nos canais dos portos e corpos dgua
para manuteno ou aumento dos calados.
DRT Delegacia Regional do Trabalho.
ECLUSAS Construo para permitir a navegao em rios com leitos
de maior declive ou encachoeirados ou mesmo os de natureza rochosa.
As eclusas funcionam como verdadeiros degraus de uma escada, onde a
embarcao elevada ou abaixada para o nvel seguinte.
ECO-92 Ver Rio-92.
ECOA Ecologia & Ao.
ECOLISTA Cadastro Nacional de Instituies Ambientalistas.
ECOSSISTEMA a comunidade total de organismos, junto com o
ambiente fsico e qumico no qual vivem. composto por seres vivos
(biocenose) e pelo meio fsico (bitopo).
EFEITO ESTUFA Denominao dada ao aumento da temperatura superf-
cial da terra, numa escala global, decorrente ao acrscimo das concentraes
atmosfricas de gases com a caracterstica de serem fortes absorvedores de
energia, na faixa de radiao infravermelha e, fracos absorvedores, no espec-
tro visvel. Em geral, o termo associado presena de dixido de carbono.
A estufa natural, constituda por camadas de gases que envolviam a Terra,
quando de sua formao, contribuiu para que a vida surgisse e se mantivesse
no Planeta, pois impedia que o calor terrestre se dissipasse e voltasse para o
espao sideral. O fenmeno atual deve-se intensidade e natureza do calor
retido, que passou a constituir um risco global (ver pg. 358).
EIA Estudo de Impacto Ambiental.
EL NIO Fenmeno de interao atmosfera-oceano que acontece entre
a Costa Peruana e a Austrlia, aumentando a temperatura das guas
superfciais do mar e causando mudanas drsticas no clima global. Este
fenmeno natural ocorre em intervalos irregulares de trs a sete anos. O El
Nio afeta tanto a temperatura como o padro de chuvas em vrias regies,
inclusive no Nordeste e Sul do Brasil. Com a mudana climtica, o El Nio
deve se tornar mais freqente e intenso.
ELETROBRS Centrais Eltricas Brasileiras.
ELETRONORTE Central Eltrica do Norte do Brasil.
EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuria.
EMBRATUR Empresa Brasileira de Turismo.
EMPATE Os seringueiros do Acre, em reposta especulao fundiria
na Amaznia e conseqente limpa da mata por queimadas, iniciam
uma forma de resistncia, chamada de empates, aes coletivas que,
pacifcamente, impediam a ao dos pees encarregados da derrubada
da mata (ver pg. 86).
ENDMICAS Ver espcies endmicas.
ENDEMISMO Fenmeno no qual uma espcie ocorre apenas em uma
determinada regio geogrfca.
ENERGIA Expressa a capacidade de um determinado arranjo de objetos
realizar ou fornecer trabalho fsico. A energia utilizada na forma de
eletricidade e de combustvel.
ENERGIA NO-RENOVVEL Corresponde aos combustveis fsseis
(carvo mineral, petrleo e gs natural), somados energia nuclear. Os
fenmenos que do origem a esses energticos ocorrem em escalas de
tempo geolgicas ou de formao do sistema solar.
ENERGIA RENOVVEL Termo usado para nomear as fontes de
energia que so repostas em ciclos anuais ou na escala de tempo dos
fenmenos biolgicos. Exemplos: hidroeletricidade, que reposta pelo
ciclo das guas.
EPTV Emissoras Pioneiras de Televiso.
EROSO Processo pelo qual a camada superfcial do solo ou partes do
solo so retiradas pelo impacto de gotas de chuva, ventos e ondas e so
transportadas e depositadas em outro lugar.
EROSO GENTICA o processo que leva a uma perda de diversidade.
No caso das plantas cultivadas, as principais causas so as presses do
mercado, as mudanas de hbitos alimentares, as migraes para as
cidades, o desmatamento, o avano de uma agricultura fundamentada
em uma base gentica estreita, e a perda do conhecimento associado
agrobiodiversidade tradicional. Por enquanto, no h espcie cultivada em
perigo de extino, o que est em perigo a diversidade gentica entre
indivduos de uma mesma espcie.
ES Esprito Santo.
ESALQ Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz.
ESEC Estao Ecolgica.
ESPECIAO Processo pelo qual uma espcie de ser vivo se transforma
em outra (anagnese) ou se divide dando origem a outras duas (clado-
gnese). Do ponto de vista morfolgico a especiao uma mudana na
forma; vista luz da ecologia a adaptao a um novo nicho, e no mbito
evolutivo a cladognese.
ESPCIES A menor populao natural considerada sufcientemente dife-
rente de todas as outras para merecer um nome cientfco, sendo assumido
ou provado que permanecer diferente de outras, ainda que possam ocorrer
eventuais intercruzamentos com espcies prximas.
ESPCIES ENDMICAS Espcies de plantas ou animais que existem
apenas em um local especfco e dependem das condies de solo e clima
peculiares daquele local.
ESPCIES EXTICAS Espcie que no nativa de determinada rea.
ESPRITOS XAMNICOS Espritos da foresta, com os quais os pajs
se comunicam.
ESTATUTO DA CIDADE Lei que estabelece normas de ordem pblica
e interesse social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 537
GLOSSRIO & SIGLRIO
bem coletivo, da segurana e do bem-estar dos cidados, bem como do
equilbrio ambiental (ver pg. 397).
ETA Estaes de Tratamento de gua.
ETE Estao de Tratamento de Efuentes.
ETNODESENVOLVIMENTO Processo de desenvolvimento que
respeita os interesses e os direitos de populaes ou povos considerados
tradicionais.
EUA Estados Unidos da Amrica.
EUTROFIZAO o aumento da quantidade de nutrientes em meio
aqutico. Esse fenmeno pode ser provocado pelo lanamento de esgotos,
resduos industriais e fertilizantes agrcolas. Em excesso, acarreta um dese-
quilbrio ecolgico, pois provoca o desenvolvimento descontrolado de algas,
em detrimento de outras espcies vivas. Esse fenmeno, conhecido como
forao das guas, torna imprestveis para o uso guas de reservatrios
de guas potveis, lagos e lagoas.
EVOLUO DEMOGRFICA Crescimento ou diminuio de uma
populao em determinado perodo.
EXTICAS Ver espcies exticas.
FAO Organizao das Naes Unidas para a Agricultura e a Alimentao.
FAU Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.
FEA Faculdade de Economia e Administrao da USP.
FEPAM Fundao Estadual de Proteo Ambiental do RS.
FFLCH Faculdade de Filosofa, Letras e Cincias Humanas da USP.
FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Servio.
FGV Fundao Getlio Vargas.
FIDA Fundo Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura.
FINEP Financiadora de Estudos e Projetos.
FITOFISIONOMIA Aspecto da vegetao de um determinado lugar
ou bioma.
FITS Frum Interamericano de Turismo Sustentvel.
FLO Fairtrade Labelling Organization.
FLONA Floresta Nacional.
FLUXO DE GENES Troca de material gentico entre populaes mediante
a disperso de gametas e zigotos.
FOIRN Federao das Organizaes Indgenas do Alto Rio Negro.
FRAGMENTAO FLORESTAL Processo de desmatamento, onde as
pores de mata vo fcando isoladas.
FRONTEIRA AGRCOLA Regio de expanso da agricultura.
FSC Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo Florestal).
FUMDHAM Fundao do Museu do Homem Americano.
FUNAI Fundao Nacional do ndio.
FUNATURA Fundao Pr-Natureza.
FUNO SOCIAL DA PROPRIEDADE Conceito que relativiza o direito de
propriedade como absoluto, condicionando o seu exerccio ao cumprimento
de requisitos fxados em lei, tais como produzir para o consumo da popu-
lao, respeitar o meio ambiente e gerar o bem-estar de trabalhadores.
Este conceito, por mesclar elementos sociais e ambientais, est sendo hoje
chamado de funo socioambiental da propriedade.
GASODUTO Condutor que permite o transporte de grandes quantidades
de gs a grandes distncias.
GEF Fundo Mundial para o Meio Ambiente.
GERMOPLASMA Material que constitui a base fsica da herana sendo
transmitida de uma gerao para outra. Signifca a matria onde se encon-
tra um princpio que pode crescer e se desenvolver, sendo defnido, ainda,
como a soma total dos materiais hereditrios de uma espcie.
GO Gois.
GPS Sistema de Posicionamento Global.
GRAU DE URBANIZAO Percentual da populao urbana em relao
populao total.
GTA Grupo de Trabalho Amaznico.
GTDN Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste.
HA Hectares.
HAB Habitantes.
HCB Hexaclorobenzeno.
HIDRELTRICA Instalao que converte a energia potencial da gua
represada a uma determinada altura do seu ponto de descarga, fazendo-a
passar por uma turbina que move um gerador eletromagntico.
HIV Vrus da Imunodefcincia Humana, sigla em ingls.
HOTSPOT reas de grande riqueza biolgica e altos ndices de ameaa
de extino, indicadas por especialistas como uma das prioridades para a
conservao da biodiversidade em todo no mundo.
IAC Instituto Agronmico de Campinas.
IAG Instituto de Astronomia, Geofsica e Cincias Atmosfricas da USP.
IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renovveis.
IBASE Instituto Brasileiro de Anlises Sociais e Econmicas.
IBDF Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal.
IBGE Instituto Brasileiro de Geografa e Estatstica.
IBOPE Instituto Brasileiro de Opinio Pblica e Estatstica.
ICCAT International Comission for the Conservation of the Atlantic
Tuna.
ICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios.
IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
IDH ndice de Desenvolvimento Humano.
IDJ ndice de Desenvolvimento Juvenil.
IESB Instituto de Estudos Socioambientais da Bahia.
IMAFLORA Instituto de Manejo e Certifcao Florestal e Agrcola.
IMAZON Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amaznia.
INBIO Instituto Nacional de Biodiversidade.
INCRA Instituto Nacional de Colonizao e Reforma Agrria.
INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais.
INPA Instituto Nacional de Pesquisas da Amaznia.
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
GLOSSRIO & SIGLRIO
538
INPE Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
INPI Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
INSTITUIES MULTILATERAIS Instituies integradas por vrios
pases, criadas pelo direito internacional com o intuito de buscar solues
para problemas comuns ou apoiar, no plano poltico ou fnanceiro, a soluo
de problemas de determinados pases ou grupo de pases.
INTEMPERISMO Conjunto de processos atmosfricos e biolgicos
(como a variao de temperatura, a ao das razes e do gelo) que causam
a desintegrao e modifcao das rochas e dos solos.
IPAM Instituto de Pesquisa Ambiental da Amaznia.
IPCC Painel Intergovernamental sobre Mudanas Climticas, sigla
em ingls.
IP Instituto de Pesquisas Ecolgicas.
IPEA Instituto de Pesquisas Econmicas Aplicadas.
IPHAN - Instituto do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional.
IPT Instituto de Pesquisas Tecnolgicas.
IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano.
IRD Institut Franaise de Recherche Scientifque pour le Dvlopment
en Cooperation.
ISA Instituto Socioambiental.
ISER Instituto de Estudos da Religio.
ITERPA Instituto de Terras do Par.
ITESP Instituto de Terras do Estado de So Paulo.
IUCN The World Conservation Union.
KW Kilowatt.
LACED Laboratrio de Pesquisas em Etnicidade, Cultura e Desenvol-
vimento.
LENOL FRETICO OU SUBTERRNEO Depsito subterrneo de gua
situado a pouca profundidade.
LEVANTAMENTO FUNDIRIO Termo utilizado para designar o trabalho
de identifcao dos ocupantes de uma terra que o governo pretende
utilizar para fns de reforma agrria, demarcao de terra indgena etc.
Por meio do levantamento fundirio, o governo relaciona todos os
ocupantes daquela rea, as circunstncias da sua ocupao (possuidores
de ttulo de propriedade, posseiros, ocupantes ilegais), as atividades que
desenvolvem, o tamanho da rea ocupada por cada um, informaes
que se fazem acompanhar de uma avaliao monetria para efeitos de
possvel indenizao.
LICENCIAMENTO AMBIENTAL Processo pelo qual quaisquer empre-
endimentos ou atividades potencialmente poluidores ou degradadores
do meio ambiente so legalmente obrigados a passar junto aos rgos
pblicos responsveis, a fm de obterem autorizao de implantao e
funcionamento.
MA Maranho.
MANANCIAIS Qualquer extenso de gua, superfcial ou subterrnea,
utilizada para abastecimento humano, industrial, animal ou irrigao.
MANEJO Conjunto de tcnicas empregadas para produzir um bem
(madeira, frutos e outros) ou servio (como a gua, por exemplo) a partir
de uma foresta, com o mnimo de impacto ambiental possvel, garantindo
a sua manuteno e conservao a longo prazo.
MANGUEZAL Sistema ecolgico costeiro tropical, dominado por espcies
vegetais tpicas (mangues), s quais se associam outros organismos vege-
tais e animais. periodicamente inundado pelas mars e constitui um dos
ecossistemas mais produtivos do planeta (ver pg. 200).
MARRETEIROS Denominao dada a atravessadores (comerciantes
independentes e informais) que controlavam o comrcio da borracha e
de mantimentos nas regies dos seringais da Amaznia.
MATA CILIAR a vegetao que cresce junto s margens de um rio e
ao longo delas.
MATERIAL GENTICO Todo material de origem vegetal e animal ou
outra que contenha unidades funcionais de hereditariedade, como o
DNA, por exemplo.
MATRIZ ENERGTICA Instrumento grfco que mostra a participao
relativa das diversas fontes energticas de um pas (por exemplo, quanto
da energia consumida vem de usinas hidreltricas, quanto vem da queima
de combustveis etc.).
MDA Ministrio do Desenvolvimento Agrrio.
MDL Mecanismos de Desenvolvimento Limpo.
MEC Ministrio da Educao.
MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO (MDL) Instrumento
que permitir, quando entrar em vigor, aos pases industrializados (os
quais tm compromisso no Protocolo de Quioto de reduzir suas emisses
de gases geradores do efeito estufa) fnanciarem projetos de reduo ou
compraremos volumes de reduo das emisses resultantes de projetos
em pases em desenvolvimento.
MEDIDA LIMINAR Termo utilizado para designar a deciso concedida
por um juiz, no incio ou durante o desenrolar de uma ao judicial e antes
que ela seja julgada em carter defnitivo, com o fm de proteger um bem
ou prevenir a ocorrncia de um dano.
MERCOSUL Mercado Comum do Cone Sul.
MTE Ministrio do Trabalho e Emprego.
MG Minas Gerais.
MICORRIZAS Constitui uma associao simbitica entre certos fungos
e algumas razes de plantas (geralmente rvores), a qual envolve a troca
de nutrientes entre as duas espcies.
MINISTRIO PBLICO FEDERAL Instituio permanente cuja funo
defender a ordem jurdica, o regime democrtico e os interesses sociais e
individuais indisponveis (ver pg. 491).
MMA Ministrio do Meio Ambiente.
MONAT Monumento Natural.
MORFOLOGIA Estudo das formas de relevo.
MP Medida Provisria.
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 539
GLOSSRIO & SIGLRIO
MPF Ministrio Pblico Federal.
MS Mato Grosso do Sul.
MST Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.
MT Mato Grosso.
MW Megawatts.
NE Nordeste.
OEA Organizao dos Estados Americanos.
OEI Organizao dos Estados Ibero-Americanos para a Educao, a
Cincia e a Cultura.
OGM Organismo Geneticamente Modifcado.
OIT Organizao Internacional do Trabalho.
OMC Organizao Mundial do Comrcio.
OMPI Organizao Mundial de Propriedade Intelectual.
OMS Organizao Mundial da Sade.
OMT Organizao Mundial de Turismo.
ONG Organizao No-Governamental.
ONU Organizao das Naes Unidas.
OSCIP Organizao da Sociedade Civil de Interesse Pblico.
PA Par.
PAC Plano de Acelerao do Crescimento.
PACD Plano de Ao de Combate a Desertifcao.
PAE Projeto de Assentamento Agroextrativista.
PAF Projeto de Assentamento Florestal.
PASES EMERGENTES Denominao dada aos pases outrora chamados
de segundo e terceiro mundos, que se industrializaram e continuam se
desenvolvendo. Em 2003, foi criado o G-20 que uniu os 20 maiores pases
emergentes do mundo para fortalecer suas economias e fazer frente ao G-8
(o grupo dos oito pases mais desenvolvidos do mundo).
PARANARURAL Programa de Desenvolvimento Rural do Paran.
PARNA Parque Nacional.
PASSIVO AMBIENTAL a dvida de uma empresa relacionada s
questes ambientais, decorrente, por exemplo, da contaminao do solo, do
lenol fretico, do no cumprimento de eventuais termos de compromisso
frmados com rgos ofciais de controle ambiental.
PATENTES Ttulo de propriedade temporria sobre uma inveno,
modelo de utilidade ou desenho industrial, outorgado pelo Estado aos
inventores ou autores ou outras pessoas fsicas ou jurdicas detentoras
de direitos sobre uma criao. A patente garante ao seu titular a exclusi-
vidade do uso econmico de sua inveno durante o perodo de vigncia
determinado pela lei.
PATOGNICO Aquilo que causa doenas.
PATGENO Ver patognico.
PATRIMNIO GENTICO o conjunto de informaes genticas de
um ser vivo, contido no DNA.
PCB Partido Comunista Brasileiro.
PCBS Policloretos de Bineflas.
PCH Pequenas Centrais Hidreltricas.
PDBG Programa de Despoluio da Baa de Guanabara.
PDS Projeto de Desenvolvimento Sustentvel.
PE Pernambuco.
PET Poli Tereftalato de Etila.
PI Piau.
PIB Produto Interno Bruto.
PIV CENTRAL Mquina destinada irrigao cujo sistema consiste uma
tubulao metlica de 200 m a 800 m onde so instalados os aspersores de
gua. A tubulao recebe a gua de um dispositivo central (o ponto piv)
e se apia em torres metlicas triangulares, montadas sobre rodas. As
torres movem-se continuamente, descrevendo movimentos concntricos
ao redor do ponto piv.
PL Projeto de Lei.
PLANASA Plano Nacional de Saneamento.
PLANO DE MANEJO Plano de uso racional do meio ambiente, visando
preservao do ecossistema em associao com sua utilizao para outros
fns (sociais, econmicos etc.).
PLANTAES FLORESTAIS Plantaes ou cultivos de rvores.
PLANTATION Sistema agrcola colonial que se caracteriza pela agricul-
tura baseada numa monocultura latifundiria (apenas um gnero agrcola
cultivado em grandes extenses de terra), produtos (tropicais) voltados
para a exportao e utilizao de mo-de-obra escrava.
PLURITNICO Termo utilizado para designar a existncia de vrias
etnias. Em geral, indica uma sociedade ou pas onde convivem diferentes
grupos tnicos, como o caso do Brasil, Peru, Mxico etc.
PMFS Planos de Manejo Florestal Sustentvel.
PNAD Pesquisa Nacional por Amostra por Domiclio.
PNDPA Programa Nacional de Desenvolvimento da Pesca Amadora.
PNMA Programa Nacional do Meio Ambiente.
PNRH Poltica Nacional de Recursos Hdricos.
PNSB Pesquisa Nacional de Saneamento Bsico.
PNUD Programa das Naes Unidas para o Desenvolvimento.
PNUMA Programa das Naes Unidas para o Meio Ambiente.
POPS Poluentes Orgnicos Persistentes.
POSSEIRO Ocupante de um pedao de terra, cujo direito se baseia no uso
efetivo que faz dessa terra e no em um ttulo registrado em cartrio.
POVOS ISOLADOS So os povos indgenas que no mantm relaes
regulares de contato com a sociedade brasileira, localizados principalmente
na Amaznia. So tambm chamados de ndios isolados.
PPA Plano Plurianual.
PP-G7 Programa Piloto para a Conservao das Florestas Tropicais
do Brasil.
PR Paran.
PRINCPIO DA PRECAUO Trata das aes antecipatrias para pro-
teger a sade das pessoas e dos ecossistemas e estabelece que, quando
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
GLOSSRIO & SIGLRIO
540
h razes para se suspeitar de ameaas de sensvel reduo ou de perda
de biodiversidade ou, ainda, de riscos sade por parte de qualquer
tecnologia, projeto, medida, deciso ou iniciativa , a falta de evidncias
cientfcas no deve ser usada como razo para postergar a tomada de
medidas preventivas.
PROARCO Programa de Preveno e Controle de Queimadas e Incndios
Florestais na Amaznia Legal.
PROFROTA Programa Nacional de Financiamento da Ampliao e
Modernizao da Frota Pesqueira Nacional.
PROINFA Programa de Incentivo s Fontes de Energia Alternativas.
PROJETO DE LEI (PL) Texto ou verso preliminar de lei antes de sua
aprovao pelo Legislativo e da sano pelo Executivo. O PL pode ser de
iniciativa do poder Executivo ou Legislativo e, normalmente, conta com
apoio de tcnicos e de juristas na sua elaborao.
PRONAF Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar.
PROTOCOLO DE QUIOTO Documento negociado e frmado na cidade de
Quioto, Japo, em 1997, pelo qual os pases desenvolvidos se comprometem
a reduzir em 5,2% entre 2008 e 2012, suas emisses de gases contribuintes
para o efeito estufa, referentes aos nveis de emisso de 1990.
PR-SEMAN Presidncia da Repblica/Secretaria do Meio Ambiente.
PSDB Partido da Social Democracia Brasileira.
PT Partido dos Trabalhadores.
PTA Projetos e Tecnologias Alternativas.
PUC-PR Pontifcia Universidade Catlica do Paran.
PUC-SP Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo.
PVC PoliVinyl Chloride.
QUCHUA Etnia indgena latino-americana; tambm se refere lngua
Quchua, que, estima-se, possui 10 milhes de falantes.
RATIFICAO o ato pelo qual um Estado informa aos demais sua
aprovao a um tratado, fazendo com que a obedincia por parte desse
Estado aos preceitos do tratado se torne obrigatria perante a comunidade
internacional.
RDS Reserva de Desenvolvimento Sustentvel.
REBIO Reserva Biolgica.
RECURSO NATURAL RENOVVEL Recursos naturais que podem ser
utilizados pelo homem e so repostos pela prpria natureza, como por
exemplo a gua (reposta pelo ciclo hidrolgico). A ao do homem, no
entanto, tem feito com que alguns recursos sejam explorados num ritmo
mais rpido do que eles so capazes de se renovar.
REF Reserva de Fauna.
RENCTAS Rede Nacional de Combate ao Trfco de Animais Silvestres.
REPAR Refnaria presidente Getlio Vargas.
RESERVA LEGAL rea protegida no interior de uma propriedade ou
posse rural, excetuada a de preservao permanente. A rea da propriedade
rural onde no permitido o corte raso varia segundo a regio do Pas.
RESEX Reserva Extrativista.
RESILINCIA Capacidade gentica dos organismos de resistirem a
tenses ou fatores limitadores do ambiente.
RESTINGA Plancies formadas por sedimentos (areia) depositados
predominantemente em ambientes marinho, continental ou de transio;
esto associadas a desembocaduras de grandes rios e/ou reentrncias na
linha de costa (ver pg. 200).
RIO+10 Conferncia de cpula realizada em 2002, na frica do Sul,
para avaliar os resultados das resolues tomadas durante a Rio-92 (ver
pg. 497).
RIO-92 Conferncia realizada pela Organizao das Naes Unidas (ONU)
sobre meio ambiente e desenvolvimento, que ocorreu entre 3 e 12 de junho
de 1992, no Rio de Janeiro (ver pg. 496).
RIOS INTERMITENTES OU TEMPORRIOS Rios que secam durante
os perodos de seca e de escassez de chuva.
RITO ORDINRIO Termo utilizado pelo direito para designar as aes
judiciais cujos prazos de tramitao no so especiais e reduzidos, para
lhes conferir maior rapidez, como, por exemplo, o de apresentao de
defesa ou contestao.
RJ Rio de Janeiro.
RL Reserva Legal.
RMSP Regio Metropolitana de So Paulo.
RN Rio Grande do Norte.
RO Rondnia.
ROYALTIES So os valores pagos ao detentor de uma marca, patente,
processo de produo, produto ou obra original pelos direitos de sua
explorao comercial. Os detentores recebem porcentagens das vendas dos
produtos produzidos com o concurso de suas marcas, processos e outros,
ou dos lucros obtidos com essas operaes.
RPPN Reserva Particular do Patrimnio Natural.
RR Roraima.
RS Rio Grande do Sul.
RVS Refgio de Vida Silvestre.
SABESP Companhia de Saneamento Bsico de So Paulo.
SARS Sndrome Aguda respiratria Severa.
SAVANIZAO Converso de mata em cerrado.
SBPC Sociedade Brasileira para o Progresso da Cincia.
SC Santa Catarina.
SEADE Fundao Sistema Estadual de Anlise de Dados.
SEAP/PR Secretaria Especial de Aqicultura e Pesca da Presidncia
da Repblica.
SEGURANA ALIMENTAR Garantia permanente que todos tenham
acesso a alimentos bsicos de qualidade, em quantidade suficiente.
Portanto, no se resume qualidade do que comemos, se refere tambm
poltica de uso de recursos naturais para a produo de alimentos, o
impacto ambiental que causa e sua distribuio. A segurana alimentar
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 541
GLOSSRIO & SIGLRIO
fca ameaada quando a poltica de produo e distribuio de alimentos
no atende a estes princpios.
SEMA Secretaria Especial de Meio Ambiente.
SEMI-RIDO Termo genrico usado para indicar climas subdesrticos,
dotados de estao seca prolongada.
SENAC Servio Nacional do Comrcio.
SERVIOS AMBIENTAIS Conjunto de funes executadas pela natureza,
imprescindveis aos seres humanos, como a regulao hdrica, de gases,
climtica e de distrbios fsicos, abastecimento de gua, controle de
eroso e reteno de sedimentos, formao de solos, ciclos de nutrientes,
polinizao, entre tantas outras (ver pg. 459).
SESMARIAS Pedao de terra devoluta ou abandonada que, no Brasil-Co-
lnia, os governos das capitanias hereditrias doavam a quem se dispusesse
a cultiv-la. Os donatrios das sesmarias eram chamados sesmeiros.
SIVAM Sistema de Vigilncia da Amaznia.
SINGREH Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hdricos.
SNRH Sistema Nacional de Recursos Hdricos.
SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservao.
SOBREPESCA Pescar em quantidade acima da capacidade de reproduo
das espcies.
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA formada por entidades de carter
no-estatal e no-governamental que promovem iniciativas de parceria
com o governo ou autonomia em relao a ele para solucionar os problemas
da sociedade e reforar o poder de ao de indivduos, grupos, bairros,
comunidades e associaes.
SOCIEDADE PLURITNICA Ver pluritnico.
SOCIODIVERSIDADE Conjunto de diferentes formas de ser, agir e pensar
dos agrupamentos humanos, abrangendo suas relaes com o ambiente,
com o espao, suas formas de organizao poltica, suas concepes reli-
giosas, suas relaes de parentesco e suas expresses culturais.
SP So Paulo.
SPVEA Superintendncia do Plano de Valorizao Econmica da
Amaznia.
SPVS Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educao Ambiental.
SS Sistema Solar.
SUDAM Superintendncia do Desenvolvimento da Amaznia.
SUDENE Superintendncia do Desenvolvimento do Nordeste.
SUDEPE Superintendncia do Desenvolvimento da Pesca.
SUDHEVEA Superintendncia da Borracha.
SUSTENTABILIDADE Garantia da continuidade de um processo nos
mesmos patamares de seu incio.
TANINO Substncia extrada da casca de algumas rvores, como o
castanheiro ou vrias espcies vegetais solvel no lcool ou na gua e
empregado no curtimento de peles e na conservao dos vinhos. No Pan-
tanal e Chaco, ocorreu a ampla explorao do quebracho para a extrao do
tanino, o que levou a importantes redues nas populaes desta planta.
TEMPORRIOS Ver Rios Intermitentes ou Temporrios.
TEP Tonelada Equivalente de Petrleto.
TERMELTRICA Instalao que converte a energia qumica de um
combustvel qualquer em eletricidade.
TI Terra Indgena.
TLC Tratado de Livre Comrcio.
TNC The Nature Conservancy.
TONELADA EQUIVALENTE DE PETRLEO Converso dos diversos tipos
de combustveis em unidade equivalente de petrleo com base no Balano
Energtico Nacional (Ministrio das Minas e Energia).
TPA Terra Preta Arqueolgica.
TRANSPOSIO Transpor as guas de um rio transferir artifcialmente,
atravs de canalizao, parte de suas guas para um outro corpo dgua.
UC Unidade de Conservao.
UFF Universidade Federal Fluminense.
UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro.
UFV Universidade Federal de Viosa.
UHE Usina Hidroeltrica.
UNB Universidade de Braslia.
UNESCO Organizao das Naes Unidas para a Educao, Cincia e
Cultura.
UNESP Universidade Estadual de So Paulo.
UNICAMP Universidade Estadual de Campinas.
UNICEF Fundo das Naes Unidas para a Infncia.
UNIVALI Universidade do Vale do Itaja.
USO CONSULTIVO Uso da gua que no implica em consumo.
USP Universidade de So Paulo.
VEGETAO CILIAR Ver Mata Ciliar.
VEGETAO EXTICA Ver Espcies Exticas.
VEGETAO NATIVA Espcies autctones de determinado local que se
desenvolvem sem interferncia do homem.
VERANICO Fenmeno meteorolgico que consiste em um perodo de
estiagem, acompanhado por calor intenso, forte insolao e baixa umidade
relativa do ar em plena estao fria. Para ser considerado veranico,
necessria uma durao mnima de quatro dias.
WWF World Wildlife Foundation (Fundo Mundial para a Natureza).
ZEE Zoneamento Econmico-Ecolgico.
ZEIS Zonas Especiais de Interesse Social.
ZONA ECONMICA EXCLUSIVA rea onde o pas detm o privilgio da
exclusividade para explorao econmica dos recursos naturais.
SOCIOAMBIENTAL
SE ESCREVE JUNTO
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 542
A
Aa 88
Ao Civil Pblica 464; 487; 490; 492
Ao pela Cidadania 466
Acesso Moradia 396
Acesso aos Recursos Genticos 477
Achim Steiner 358
Acidentes Socioambientais 456
Acordos Internacionais 432; 476
Agenda 21 497
Agricultura 28; 132; 192; 317
Orgnica 415; 430
Sustentvel 414; 422
Agrobiodiversidade 420
Agronegcio Agrobusiness 132; 418
Agrosilvicultura 416
gua 291
Abastecimento 292; 297; 308; 310
gua de Reuso 296
Aqfero Guarani 297
Bacias Hidrogrfcas 294; 305
Amaznica 100
Comits de Bacia Hidrogrfca 302; 483
Xingu 278; 347
Barragens 311; 466
Ciclo da gua 296
Cisternas 122; 306
Cobrana pelo uso da gua 302; 483
Poluidor-Pagador 302
Cdigo das guas 298
Confitos pelo Uso 298
Consumo 132; 315; 317
Degradao da Qualidade da gua 292
Disponibilidade Hdrica 292; 303; 306
Distribuio de gua 292
Esporte e Lazer 313
Gesto dos Recursos Hdricos 294; 302; 306;
482
Hidrovias 314; 489
Irrigao 124; 132; 143; 317; 468
Gotejamento 317
Micro-Asperso 317
Transposio do Rio So Francisco 124; 468
Lei das guas 302
Lei n 9.433/97 306; 482
NDICE REMISSIVO
Mananciais de So Paulo 308
Pesca 43; 181; 319
PNRH 294; 302; 306
Poluio 204; 207; 308; 312; 320
Regies Hidrogrfcas Brasileiras 294
Rios
Araguaia 140
Pelotas 160
Ribeira de Iguape 300
Saneamento Bsico 303
Planasa 303
Usinas Hidroeltricas 300
Uso Industrial 301; 315
Albert Einstein 29; 32
lcool 193; 468
Alexandre Humboldt 83; 91
Aliana dos Povos da Floresta 465
Aliana pela Caatinga 114
Almeida Torres 290
Alternativa Bolivariana para Amrica Latina
e Caribe 50
Alto Xingu 102
Amazonas (Estado) 100
Amazonense 100
Amaznia 83; 324
Amaznia Clssica 100
Amaznia Legal 100
Arpa 106; 269
Bacia Amaznica 100
Bioma Amaznia 83; 100
Biopirataria 104
Confitos pela Posse da Terra 91; 94
Culinria 106
Desenvolvimento Humano 101; 104
Desmatamento 89; 90; 94; 276
Arco do Desmatamento 94; 284; 324
Diversidade Cultural 84
Energia 346
Fronteiras 83; 85
Internacionalizao 91
Minerao 95
Mudanas Climticas 95
Msica 105
Ocupao 90; 278; 284; 338
Operao Curupira 277
Plano de Ao para Preveno e Controle do
Desmatamento na Amaznia Legal 277; 282
Projetos de Desenvolvimento Regional 90; 106
Prosa & Verso 90
Sipam 89
Sivam 89
Terra do Meio 94; 265
Amaznico 100
Amaznida 100
Amrica Latina 48
Blocos Regionais 50; 328
Colonizao 48
Degradao Socioambiental 52
Desenvolvimento Humano 52; 58
Mudanas Climticas 60
Populao 50; 52
Amrico Vespcio 48
Amianto Asbesto 458
Ano-Luz 25
Antnio Caringi 166
Apicum 200
Apruma 286
Aquecimento Global 45
Aquecimento Solar 350; 412
Aqfero Guarani 297
Araucria 148
Arco do Desmatamento 94; 284; 324
rea de Livre Comrcio das Amricas 50
rea de Preservao Permanente 274; 483
rea de Proteo Ambiental 268
rea de Relevante Interesse Ecolgico 268
reas Contaminadas 456
reas Protegidas 261
Arpa 106; 269
Cavernas/Grutas/Lapas 266
Minerao 355
PNAP 263
Quilombos 234; 239
Terras Indgenas 233; 237; 262; 325; 354;
474; 486
UCs 114; 141; 246; 263; 355; 483
Areizao 176; 333
Arpa 106; 269
Arquiplago de Anavilhanas 92
Arquitetura 391
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 543
NDICE REMISSIVO
Articulao do Semi-rido 122; 306
Assoreamento 278
Astrobiologia 30
Astronomia 25
Aterros 403
Ava-Canoeiro 131
vila de Arajo 165
Aziz AbSaber 190
B
Babaueiros 224
Bacalhau 43
Bacias Hidrogrfcas 294; 305
Bacia Amaznica 100
Bacia do Xingu 278; 347
Comits de Bacia Hidrogrfca 302; 483
Bagao de Cana 350
Baas
Baa de Guanabara (RJ) 382
Baa de Todos os Santos 204
Do Pantanal 181
Balduno Rambo, Pe. 164
Banhados 164; 181
Barbosa Lessa 167
Barragens 300; 311; 466
Bens Culturais 113; 270; 478
Bens Ambientais Culturais 270
Bens Ambientais Naturais 270
Decreto-Lei n 25/1937 272
Imateriais 272
Materiais 272
Patrimnio Cultural 270
Patrimnio da Humanidade 271
Patrimnio Natural 270
Bens Minerais 352
Big Bang 24
Biocombustveis 376
Biodiesel 350
Biodigestores 412
Biodiversidade 241
Acesso aos Recursos Genticos 477
Biopirataria 104; 248; 255
Bioprospeco 257
Biossegurana 258
Biotecnologia 257; 258; 259
Transgnico 259; 260
Caatinga 108
Cerrado 133; 242
Conhecimentos Tradicionais 53; 233; 238;
239; 255; 420; 477; 486
Conservao 241; 256; 261; 330
Conservao Ex Situ 256; 421
Conservao In Situ 256
Conveno da Biodiversidade 255; 258; 476;
Corredores de Biodiversidade - Ecolgicos 140;
159; 188; 241; 265
Corredor Ecolgico da Caatinga 114
CTNBio 258
Diversidade Biolgica 242; 476
Diversidade Gentica 254; 419; 420
Engenharia Gentica 258; 415
Espcies em Extino 115; 191; 194
Cites 478
Fauna 115; 165; 183; 191; 194; 243
Espcies Ameaadas 243; 320
Espcies em Extino 43; 115; 149; 206;
245; 248
Espcies Exticas Invasoras 246
Lista Vermelha 245
Trfco de Animais Silvestres 149; 248
Flora 108; 147; 161; 249; 252
Cicadceas 250
Epftas 253
Espcies Endmicas 250
Espcies Exticas 253
Plantas Medicinais 108; 183; 250; 257
Mata Atlntica 144; 146
Medida Provisria n 2.186 239; 486
Pantanal 177; 188
Patentes 255; 257
Patrimnio Gentico 254
Pirataria de Genes Humanos 256
Planeta Terra 33
Princpio da Precauo 258; 260
Processos Ecolgicos 241
Propriedade Intelectual 238; 239; 255; 477
Recursos Genticos 239; 254; 476; 486
Repartio de Benefcios 238; 486
Biologia da Conservao 244
Biopirataria 104; 248; 255
Bioprospeco 257
Biosfera 26
Biossegurana 258
Decreto n 5.591/05 259
Lei n 8.974/95 258
Lei n 11.105/05 258; 259
Medida Provisria n 327/07 259
Protocolo de Cartagena sobre
Biossegurana 258; 477
Biotecnologia 257; 258; 259
Transgnico 259; 260
Lei n 11.460/07 259
Blocos Regionais
Alba 50
Alca 50
Comunidade Andina 50
Mercosul 50
TLC 50
TCA 50; 328
Bomba Bitica de Umidade 369
BR-163 - Rodovia Cuiab-Santarm 338; 468
BR-364 464
Brasiguaios 328
Brejos Interioranos 148
Buraco na Camada de Oznio 364; 478
Buriti 139
C
Caatinga 107
Aliana pela Caatinga 114
ASA 306
Biodiversidade 108
Corredor Ecolgico da Caatinga 114
Culinria 123
Desenvolvimento Humano 116
Dia Nacional da Caatinga 111
Indstria da Seca 117; 122
Mudanas Climticas 110
Museu do Semi-rido 115
Msica 116
Ocupao 116
Projetos de Desenvolvimento Regional 123
Prosa & Verso 111
Caboclos 224
Caf 35
Caiaras 224
Caipira Brasileiro 131; 224
Caipora 247
Campos de Altitude 148; 151
Campos Sulinos Veja Pampa
Caos Areo 337
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
NDICE REMISSIVO
544
Capacidade de Carga do Planeta 442
Carcinicultura 197
Carl Axel Magnus Lindman 165
Carl Ritter 49
Carlos Dayrel 463
Carlos Nobre 94; 277
Carta da Terra 46
Carta de Procon 189
Carvo Vegetal 129; 192
Cavernas/Grutas/Lapas 266
CCPY 464
Celso Furtado 123
Cerrado 128; 242
Agronegcio 132
Agropecuria 128; 132
Biodiversidade 133; 242
Caipira Brasileiro 131
Culinria 143
Cultura 131
Desenvolvimento Humano 132
Desmatamento 129; 138; 141
Energia 132; 133
UHE Serra da Mesa 133
Mudanas Climticas 138
Msica 130
Ocupao 129
Populao 131
Povos Indgenas 131
Prosa & Verso 138
Sistema Plantio Direto 143
Turismo 140
Vegetao 129; 133; 141
Cerros e Serras 166
Certifcao 455; 474
Certifcao Florestal 162; 286
FSC 286
Programa de Certifcao de Turismo
Sustentvel 474
Chapada Diamantina 269
Chico Aniceto (Francisco J. L. da Silva) 116
Chico Mendes 86; 267; 450; 464; 465
Chuva cida 406
Cicadceas 250
Ciclo da gua 296
Cidades 63;240; 379
Acesso Moradia 396
Arquitetura 391
Cidades Sustentveis 381; 410
Construo Sustentvel 392
Enchentes 395
Estatuto da Cidade 397; 468; 485
Funo Socioambiental da Propriedade
Urbana 240
Habitao 394; 396
Ilha de Calor 393
Impacto Ambiental 393
Lixo 398; 410
Ocupao do Solo 382; 389; 395; 485
Planejamento Urbano 381; 390
Plano Diretor 240
Poluio
Poluio da gua 408
Poluio do Ar 405; 406
Chuva cida 406
Poluio do Solo 408
Poluio Sonora 406
Poluio Urbana 405
Poluio Visual 408
Regies Metropolitanas 389
Solo Urbano 408; 485
Transporte Urbano 409; 412
Mobilidade Sustentvel 409
Urbanismo-Urbanizao 34; 73; 380; 391; 396
Zonas Especiais de Interesse Social 397
Cincia e Tecnologia 423
Cinta-Larga 354
Cisternas 122; 306
Cludio Ptolomeu 29
Clima 357
Aquecimento Global 45
Bomba Bitica de Umidade 369
Buraco na Camada de Oznio 364; 478
Conveno de Viena 478
Conveno do Clima 45; 365; 477
Efeito Estufa 45; 358; 365; 373; 477
El Nio 359
IPCC 45; 360
MDL 94; 363;370; 375; 477
Mercado Internacional de Carbono 378
Mudanas Climticas 37; 45; 60; 70; 95; 110;
138; 147; 173; 192; 196; 277; 337; 358; 477;
478
Neutralizao de Carbono 375
Protocolo de Montreal 478
Protocolo de Quioto 45; 363; 477
Reduo Compensada 366
Seqestro de Carbono 364; 374
Tipos Climticos 371
Zonas Climticas 371
Coalizes e Redes 465
Coca 53
Cdigo das guas 298
Cdigo Florestal - Lei n 4.771/65 251; 274;
467; 483
Coleta Seletiva 399; 402
Colonizao 48; 280; 332
Combustveis 344; 348
lcool 193; 468
Aquecimento Solar 350
Bagao de Cana 350
Biocombustveis 376
Biodiesel 350
Combustveis Renovveis 348; 376
Etanol 349; 350
Octanagem 349
Comrcio Justo 425
Comisso Brundtland 440; 450
Comits de Bacia Hidrogrfca 302; 483
Comunidade Andina 50
Conferncia das Naes Unidas sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento Veja Rio-92
I Conferncia das Naes Unidas sobre Meio
Ambiente 496
I Conferncia de Direitos Humanos da
ONU 496
Conferncia Nacional do Meio Ambiente 494
Conferncia Nacional Infanto-Juvenil pelo
Meio Ambiente 494
Com-Vida 495
Confitos pela Posse da Terra 332; 464; 468
Amaznia 91; 94
Eldorado de Carajs (PA) 467
Massacre de Corumbiara (RO) 467
Confitos pelo Uso de Recursos 34
Conhecimentos Tradicionais 53; 233; 238;
239; 255; 420; 477; 486
Consentimento Prvio e Informado 238
Conselhos de Gesto 269; 483
Conservao Ex Situ 256; 421
Conservao In Situ 256
Constituio Federal 236; 262; 465; 481
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 545
NDICE REMISSIVO
Consumo Sustentvel Consumo Respons-
vel 43; 46; 287; 297; 410; 428; 454
Contabilidade Ambiental 431
Contaminao Industrial 458
Convenes 476
Conveno 169 da OIT sobre Povos Indgenas e
Tribais em Pases Independentes 480
Conveno da Diversidade Biolgica 255; 258;
476
Conveno da ONU sobre o Direito do Mar 478
Conveno da Unesco sobre Proteo e Promoo
da Diversidade das Expresses Culturais 477
Conveno de Combate Desertifcao 123;
479
Conveno de Viena sobre Proteo da
Camada de Oznio 478
Conveno sobre Comrcio Internacional das
Espcies da Fauna e Flora Selvagens em Perigo
de Extino Cites 478
Conveno sobre Poluentes Orgnicos Persistentes
Conveno de Estocolmo 479
Conveno-Quadro da ONU sobre Mudanas
Climticas 45; 365; 477
Cooperao Internacional 432
Cooperativas de Consumo 443
Cooperativas de Produo 443
Co-Processamento 403
Coqueiro 212
Corredores de Biodiversidade Ecolgicos 140;
159; 188; 241; 265
Corredor Ecolgico da Caatinga 114
Cosmogonia 25
Cosmologia 25
Costa dos Tabuleiros (NE) 202
Costes Rochosos 201
Creative Commons 484
Crescimento Econmico 433
Crimes Ambientais 492
Cristvo Colombo 48
Cristvo de Mendonza Orelhano, Pe. 167
CTGs 166
CTNBio 258
Cubato 464
Culinria
Amaznia 106
Caatinga 123
Cerrado 143
Gacha 172
Mata Atlntica 153
Pantanal 189
Zona Costeira 214
Cultura 247; 477
Bens Culturais 270
Brasileira 66; 270
Caiara 197
Cerrado 131
Pampa 166; 174
Pantaneira 179 194
Cpula do Milnio 36
Cpula Mundial sobre Desenvolvimento
Sustentvel Veja Rio+10
CVRD 353
D
Danos Socioambientais 488
Responsabilidade Administrativa 488
Responsabilidade Civil 490
Responsabilidade Criminal 492
Darcy Ribeiro 59; 108; 116
David Kopenawa Yanomami 228
Declarao sobre os Direitos dos Povos
Indgenas (Minuta) 480
Decreto n 750/93 146; 484
Decreto n 1.775 262; 486
Decreto n 4.297/02 326
Decreto n 4.340/03 263
Decreto n 4.887/03 234; 486
Decreto n 5.591/05 259
Decreto n 98.897/90 267
Decreto-Lei n 25/1937 272
Degradao Ambiental 292; 335; 354
Degradao Socioambiental 42; 44; 46; 52; 62
Demografa 216
Dennis L. Meadows 440
Desenvolvimento Humano 36; 42; 52; 58; 69;
101; 104; 116; 132; 435; 447
IDH 433; 435
Incluso Digital 438
Desenvolvimento Sustentvel 439
Desertifcao 123; 126; 333; 479
Desmatamento 61; 79; 89; 90; 94; 129; 138;
141; 146; 246; 251; 276; 366; 372
Arco do Desmatamento 94; 284; 324
Plano de Ao para Preveno e Controle do
Desmatamento na Amaznia Legal 277; 282
Projeto Deter 282
Dirce Suetergaray 176
Direito Ambiental 486
Direito de Propriedade 331
Direito Socioambiental 236
Direitos Coletivos 233; 236
Direitos Difusos 390
Direitos Humanos 438
Direitos Indgenas 236; 480; 485; 486
Conveno 169 da OIT 480
Declarao sobre os Direitos dos Povos
Indgenas (Minuta) 480
Disponibilidade Hdrica 292; 303; 306
Distribuio de gua 292
Diversidade Biolgica 242; 243; 476
Diversidade Cultural 53; 84
Conveno da Unesco sobre Proteo e Promoo
da Diversidade das Expresses Culturais 477
Diversidade Gentica 254; 419; 420
Diversidade Socioambiental 215
Diversifcao de Agroecossistemas 416
DNA do Brasileiro 222
Dorothy Stang 277; 438; 468
Dunas 201
E
ECO-92 Veja Rio-92
Ecoefcincia 455
Economia Ecolgica 441
Economia Solidria 443
Cooperativas de Consumo 443
Cooperativas de Produo 443
Ecossistemas Costeiros 200
Apicum 200
Costes Rochosos 201
Dunas 201
Esturios 200
Manguezais 148; 197; 200
Marismas 200
Pradarias Marinhas 201
Praias 198; 201
Recifes 201
Restingas 200
Ecoturismo 469
Em Terras Indgenas 474
Educao 114; 444
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
NDICE REMISSIVO
546
Edwin Hubble 29; 32
Efeito Estufa 45; 358; 365; 373; 477
Efuentes Industriais 315
El Nio 359
Eletricidade 344; 346
Empates 86; 464
Enchentes 395
Energia 192; 300; 301; 340
Amaznia 346
Aquecimento Solar 412
Barragens 311; 466
Biodigestores 412
Cerrado 132; 133
Combustveis 344; 348
Combustveis Renovveis 376
Conservao de Energia 347; 467
Consumo 340
Eletricidade 344; 346
Fontes Renovveis 344; 345; 346
Matriz Energtica 344; 366
Nuclear 351; 463
Proinfa 345
Usina Hidreltrica 153; 161; 346; 347; 463
Engenharia Gentica 258; 415
Epftas 253
rico Verssimo 175
Eroso 141; 198; 207
Espcies Ameaadas 243; 320
Espcies em Extino 43; 115; 149; 191; 194;
206; 245; 248
Cites 478
Espcies Endmicas 250
Espcies Exticas 246; 253
Esporte e Lazer 313
Estao Ecolgica Esec 268
Estao Ecolgica de Anavilhanas 92
Estao Ecolgica de Juria-Itatins 464
Estao Ecolgica do Jata 460
Estatuto da Cidade 397; 468; 485
Estatuto da Terra 332
Estatuto do ndio (Lei n 6.001/73) 325; 485
Estradas 336; 338
BR-163 - Rodovia Cuiab-Santarm 338; 468
BR-364 464
Esturios 200
Estudo de Impacto Ambiental - EIA 449
Etanol 349; 350
Etnia 222
Euclides da Cunha 108; 116; 150
Euclides Fernando Tvora 86
Everglades (Pntanos) 459
Exoplanetas 30
F
Faixa de Fronteira 328
Fauna 115; 165; 183; 191; 194; 243
Biopirataria 248
Espcies Ameaadas 243; 320
Espcies em Extino 43; 115; 149; 206;
245; 248
Espcies Exticas Invasoras 246
Lista Vermelha 245
Trfco de Animais Silvestres 149; 248
Fernanda Giannasi 458
Fernando Henrique Cardoso 89; 123; 182; 239
Flora 108; 147; 161; 183; 249;
Cicadcea 250
Epftas 253
Espcies Endmicas 250
Espcies Exticas 253
Plantas Medicinais 108; 183; 250; 257
Floresta da Tijuca 290
Floresta Nacional Flona 268
Florestas 273
rea de Preservao Permanente 274; 483
Certifcao Florestal 162; 286
FSC 286
Cdigo Florestal 251; 274; 467; 483
Desmatamento 61; 79; 89; 90; 94; 129; 138;
141; 146; 246; 251; 276; 366; 372
Arco do Desmatamento 94; 284; 324
Floresta Estacional Decidual 148
Floresta Estacional Semidecidual 148
Floresta Ombrfla Aberta 148
Floresta Ombrfla Densa 148
Floresta Ombrfla Mista 148
Florestas Pluviais (Rainforests) 83; 144; 249;
368
Gesto de Florestas Pblicas 267; 275; 485
Manejo Florestal 251; 285
Plantaes Florestais 287
PMFS 251
Poltica Florestal 274
Queimadas 283; 367
Reabilitao 290
Recuperao Florestal 288; 290
Reforestamento 290
Regenerao Natural 290
Reserva Legal RL 274; 483
Restaurao 290
Servio Florestal Brasileiro 485
Fontes Renovveis 344; 345; 346
Frum Econmico Mundial 498
Frum Social Mundial 498
Francisco Anselmo de Souza 193
Francisco Anselmo Gomes de Barros 468
Francisco de Melo Palheta 35
Francisco Julio 332
Fronteiras 327
Amaznia 83; 85
Faixa de Fronteira 328
Fronteira Agrcola 122; 128
Fronteiras Terrestres Brasileiras 327
Integrao Terrestre 327
FSC (Forest Stewardship Council) 286
Funo Socioambiental da Propriedade 240
G
Galxias 25
Galileu Galilei 29
Garimpo 355
Gasoduto 192
Geocentrismo 29
Gesto Ambiental 452
Gesto de Florestas Pblicas 267; 275; 485
Gesto dos Recursos Hdricos 294; 302; 482
SINGREH 302; 306
Graciliano Ramos 127
Gretchen Daily 460
Grilagem de Terras 332
Gro Harlem Brundtland 440
Guarapiranga 309
Guaritas 176
Guimares Rosa 127; 139; 142; 150
H
Habitao 394; 396
Helena Meirelles 181
Heliocentrismo 29
Hidrovias 314
Araguaia-Tocantins 141; 489
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 547
NDICE REMISSIVO
Impacto Ambiental 314
Paran-Paraguai 182; 314
Hotspots 144
I
ICMS Ecolgico 412
Idade das Trevas 26
Impacto Ambiental 393
Incinerao 403
Incluso Digital 438
Indicadores Socioambientais 446; 453
Indicadores Calvert-Henderson 447
ndice de Desenvolvimento Humano 433; 435
Indstria da Seca 117; 122
Instituto de Pesquisas Ecolgicas - IP 330
Irrigao 124; 132; 143; 317; 468
Gotejamento 317
Micro-Asperso 317
Projeto guas do Vale 318
Transposio do Rio So Francisco 124; 468
Isaac Newton 29; 32
Ivair Higino 87
J
Jacobo Waiselfsz 388
James V. Neel 256
Jean Godrey 447
Joo Cabral de Melo Neto 66
Joo de Vasconcelos Sobrinho 111
Joo Pedro Teixeira 122
Johannes Kepler 29
Jorge Amado 203
Jorge Viana 467
Jos Bonifcio de Andrade e Silva 64
Jos Lutzemberger 78; 173; 417; 448; 463
Jos Pires da Cunha 489
Juazeiro 109
Juscelino Kubitschek 123; 394
KL
Kaingang 464
Kalunga 131
Latifndio 332
Legislao Brasileira 481
Lei da Informao Ambiental 487
Lei da Mata Atlntica 146; 275; 484
Lei da Poltica Nacional de
Recursos Hdricos 306; 482
Lei das guas 302
Lei de Acesso a Recursos Genticos e Conheci-
mentos Tradicionais Associados 239; 486
Lei de Biossegurana 258; 259
Lei de Biossegurana 258
Lei de Crimes Ambientais 486
Lei de Gesto de Florestas Pblicas 267;
275; 485
Lei do SNUC 152; 263; 483
Lei n 4.771/65 251; 274; 467; 483
Lei n 6.001/73 325; 485
Lei n 6.938/81 - PNMA 448; 482; 490
Lei n 7.347/85 464; 487; 490; 492
Lei n 8.974/95 258
Lei n 9.433/97 306; 482
Lei n 9.605/98 486
Lei n 9.985/00 152; 263; 483
Lei n 10.257/01 397; 468; 485
Lei n 10.650/03 487
Lei n 10.831/03 422
Lei n 11.105/05 258; 259
Lei n 11.284/06 267; 275; 485
Lei n 11.428/06 146; 275; 484
Lei n 11.445/06 307
Lei n 11.460/07 259
Leonel Brizola 332
Licena Creative Commons 484
Licenciamento Ambiental 347; 412; 449
Ligas Camponesas 122
Lista Vermelha 245
Litoral Brasileiro 199
Lixo 398; 410
Coleta Seletiva 399; 402
Comercial 400
Disposio 400; 403
Aterro Controlado 403
Aterro Industrial 403
Aterro Sanitrio 403
Co-Processamento 403
Incinerao 403
Lixes 403
Domiciliar 400
Especial 400
Hospitalar 400
Industrial 400
Produo 400; 401
Pblico 400
Reciclagem 402
Lorenzo de Mdici 48
Lus Flvio Cappio, Dom 468
Luiz Fernando Barreto de Queiroz Bispo 383
Luiz Gylvan Meira Filho 367
Luiz Incio Lula da Silva 122; 182; 234; 251;
282; 319; 344; 355
Lutas e Campanhas Socioambientais 462
M
M. Guimares Ferri 406
Mananciais de So Paulo 308
Guarapiranga 309
Mandioca 420
Manejo Agrcola 421
Manejo Florestal 251; 285
Manejo Pesqueiro 322
Manguezais 148; 197; 200
Manuel Gomes Archer 290
Mapa da Violncia dos Municpios
Brasileiros 388
Marco Plo 48
Marcus Barros 111
Maria das Neves (Nytunw) Patax 474
Marina Silva 78; 106; 450; 468
Marismas 200
Martin Rees 26
Mata Atlntica 144
Biodiversidadade 144; 146
Corredores Ecolgicos 159
Culinria 153
Decreto n 750/93 146; 484
Desmatamento 146; 276
Energia 153; 161
Fauna 149
Flora 147; 161
Lei da Mata Atlntica 275
Lei n 11.428/06 146; 484
Minerao 153
Mudanas Climticas 147
Msica 151
Populao 151; 162
Projeto Floresta Viva 289
Prosa & Verso 158; 174
Recuperao de reas Degradadas 159; 289
Mata Ciliar 162
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
NDICE REMISSIVO
548
Matriz Energtica 344; 366
Matriz Multi-Modal 337
Maurcio de Nassau 212
MDL Mecanismos de Desenvolvimento
Limpo 94; 363; 370; 375; 477
Medicina da Conservao 244
Medida Provisria n 2.186 239; 486
Medida Provisria n 327/07 259
Meio Ambiente Urbano Veja Cidades
Mercado Internacional de Carbono 378
Mercosul 50
Michael Heckenberger 102
Milton Santos 204
Minerao 95; 153; 188; 352
reas Protegidas 355
Bens Minerais 352
CVRD 353
Degradao Ambiental 354
Garimpo 355
Impactos Ambientais 354
Minerao em Terras Indgenas 354
Patrimnio Mineiro 353
Poluio 354
Sustentabilidade 356
Ministrio Pblico 490
Mitos Pantaneiros 182
Mogno 251; 479
Monumentos Naturais- Monat 268
Movimento Socioambiental 462
MST 330; 331; 464
Mudanas Climticas 277; 337; 358; 477; 478
Amrica Latina 60
Brasil 70; 365
Amaznia 95
Caatinga 110
Cerrado 138
Mata Atlntica 147
Pampa 173
Pantanal 192
Zona Costeira 196
Planeta Terra 37; 45
Msica
Amaznia 105
Brasileira 68
Caatinga 116
Cerrado 130
Mata Atlntica 151
Pampeira 172
Pantaneira 194
Zona Costeira 214
NO
Neutralizao de Carbono 375
Nicholas Georgescu-Roegen 441
Nicolau Coprnico 29
Octanagem 349
Ocupao do Solo 382; 389; 395; 485
Ocupao Territorial 309; 324; 338
Amaznia 90; 278; 284
Caatinga 116
Cerrado 129
Pampa 174
Pantanal 179; 192
Zona Costeira 195; 207
OGM (Organismo Geneticamente
Modifcado) Veja transgnico
Operao Curupira 277
Ordenamento Territorial 324
Oswald de Andrade 150
P
Pacto Andino 50; 328
Padre Ccero 117
Painel Intergovernamental sobre Mudanas
Climticas Globais - IPCC 45; 360
Paixo Cortes 166
Pampa 163
Areizao 176
Banhados 164
Cerros e Serras 166
CTGs 166
Culinria Gacha 172
Cultura 166; 174
Fauna 165
Mudanas Climticas 173
Msica Pampeira 172
Ocupao 174
Parque de Espinilho 164
Pecuria 176
Projetos de Desenvolvimento Regional 172
Prosa & Verso 166; 174
Vegetao 165
Panar 237; 463; 467
Pantanal 177
Agricultura 192
Baas 181
Banhados 181
Biodiversidade 177; 188
Espcies em Extino 191; 194
Fauna 183; 191; 194
Flora 180
Plantas Medicinais 183
Culinria Pantaneira 189
Cultura 179; 194
Energia 192
Gasoduto 192
Hidrovia Paran-Paraguai 182; 314
Minerao 188
Mitos Pantaneiros 182
Mudanas Climticas 192
Msica Pantaneira 194
Ocupao 179; 192
Pecuria 179
Pesca 181
Turismo Pesqueiro 183
Populao 179; 191
Povos Indgenas 179
Projetos de Desenvolvimento Regional 192
Prosa & Verso 178; 190
RPPN 188
Salinas 181
Turismo 181
Parque de Espinilho 164
Parque Indgena do Xingu 233; 278
Parque Nacional Parna 224; 268; 269
Parna da Chapada Diamantina (BA) 269
Parna da Serra da Capivara (PI) 112
Parna da Tijuca (RJ) 269; 382
Parna do Iguau (PR) 264
Passivo Ambiental 456
Patativa do Assar (Antnio Gonalves da
Silva 126; 127
Patentes 255; 257
Patrimnio Cultural 270
Patrimnio da Humanidade 271
Patrimnio Espeleolgico 266
Patrimnio Gentico 254
Patrimnio Mineiro 353
Patrimnio Natural 270
Pau-Brasil 72; 250
Paulo Nogueira Neto 159; 448
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 549
NDICE REMISSIVO
Pecuria 130; 176; 179
Pegada Ecolgica 44; 442
Pero Vaz de Caminha 158
Pesca 43; 181; 319
Manejo Pesqueiro 322
Pesca Continental 320
Pesca Esportiva 470
Pesque-e-solte 470
Produtividade Pesqueira 319
Recursos Pesqueiros 321
Sobrepesca 321
Turismo Pesqueiro 183
Petrobrs 204
Pirataria de Genes Humanos 256
PL n 1.610 (Minerao em TIs) 354
Planejamento Urbano 381; 390
Planeta Terra 33
Confitos pelo Uso de Recursos 34
Consumo Responsvel 43; 46
Degradao Socioambiental 42; 44; 46
Desenvolvimento Humano 36; 42
Mudanas Climticas 37; 45
Populao 33
Sociodiversidade 34
Urbanizao 34
Planetas 28
Exoplanetas 30
Planetas Anes 28
Pluto 28
Planetas Telricos 30
Plancies Litorneas Veja Restingas
Plano de Ao para Preveno e Controle do
Desmatamento na Amaznia Legal 277; 282
Plano de Manejo Florestal Sustentvel 251
Plano Diretor 240
Plano Nacional de Saneamento 303
Plantaes Florestais 287
Plantas Medicinais 108; 183; 250; 257
PNAD 306
PNRH 302
Poltica Ambiental 78; 448
Lei n 6.938/81 448; 482; 490
Poltica Florestal 274
Poltica Nacional de reas Protegidas 263
Poltica Nacional de Biodiversidade 264
Poltica Nacional de Povos e Comunidades
Tradicionais 225; 235
Poltica Nacional de Saneamento 307
Poluio
gua 204; 207; 308; 312; 320; 408
Ar - Poluio Atmosfrica 204; 405; 406
Chuva cida 406
Baa de Guanabara 383
Contaminao Industrial 458
Minerao 354
Poluidor-Pagador 302
Solo 408; 456
Sonora 406
Tratado dos POPs 479
Urbana 405
Visual 408
Pontal do Paranapanema 330
POPs 457; 479
Populao 33; 50; 52
Brasileira 69; 131; 151; 162; 179; 191; 195;
197; 199; 216; 380;
DNA do Brasileiro 222
Em Unidades de Conservao 224; 269
Populaes Tradicionais 223; 238; 325
Babaueiros 224
Caboclos 224
Caiaras 224
Caipiras 224
PNPCT 225; 235
Populaes em UCs 224; 269
Quebradeiras de Coco 224
Quilombolas 131; 224; 467
Ribeirinhos 224
Seringueiros 86; 224; 464
Pororoca 313
Povos Indgenas 53; 102; 131; 179; 226; 463;
464; 465
Ava-Canoeiro 131
Censo 226; 228
Cinta-Larga 354
Conhecimentos Tradicionais 233
Decreto n 1.775 262; 486
Dia do ndio 227
Direitos Coletivos 233; 236; 480; 485
Conveno 169 da OIT 480
Declarao sobre os Direitos dos Povos
Indgenas (Minuta) 480
Direitos Indgenas 236; 480
Ecoturismo em TIs 474
Estatuto do ndio 325; 485
Kaingang 464
Minerao em Terras Indgenas 354
Panar 237; 463; 467
Sater-Maw 427
Terras Indgenas 233; 237; 262; 325; 474; 486
Parque Indgena do Xingu (MT) 233; 278
TI Roosevelt (RO) 355
TI Yanomami (RR) 355; 466
Ticuna 465
Xavante 489
Yanomami 228; 256; 355; 464; 466
Pradarias Marinhas 201
Praias 198; 201
Princpio da Precauo 258; 260
Princpios do Turismo Sustentvel 471
Proarco 283
Processos Ecolgicos 241
Produtividade Pesqueira 319
Produto Interno Bruto 433
Proinfa 345
Projeto guas do Vale 318
Projeto de Deteco de reas Desforestadas
em Tempo Real Deter 282
Projeto Floresta Viva 289
Projeto Lagamar 471
Projeto Tamar 206
Projetos de Desenvolvimento Regional 90;
106; 123; 172; 192; 324; 462; 465;
Propriedade Intelectual 238; 239; 255;
477; 484
Prosa & Verso
Amaznia 90
Brasil 65
Caatinga 111
Cerrado 138
Mata Atlntica 158; 174
Pampa 166; 174
Pantanal 178; 190
Reforma Agrria 331
Zona Costeira 207
Protocolos
Protocolo de Cartagena sobre
Biossegurana 258; 477
Protocolo de Montreal sobre Proteo
da Camada de Oznio 478
Protocolo de Quioto 45; 363; 477
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL
NDICE REMISSIVO
550
Q
Quebracho 180
Quebradeiras de Coco 224
Queimadas 283; 367
Procarco 283
Questo Agrria
Agricultura 128; 132; 192; 317
Orgnica 415; 430
Sustentvel 414
Agrobiodiversidade 420
Agronegcio Agrobusiness 132; 418
Agrosilvicultura 416
Apruma 286
Confitos pela Posse da Terra 332; 464; 468
Amaznia 91; 94
Eldorado de Carajs (PA) 467
Massacre de Corumbiara (RO) 467
Diversifcao de Agroecossistemas 416
Estatuto da Terra 332
Fronteira Agrcola 122; 128
Funo Socioambiental da Propriedade 240
Grilagem de Terras 332
Irrigao 124; 132; 143; 317; 468
Latifndio 332
Ligas Camponesas 122
Manejo Agrcola 421
MST 330; 331; 464
Pontal do Paranapanema 330
Reforma Agrria 329
Sistema Plantio Direto 143; 335
Sistemas Agroforestais 288; 416
Situao Fundiria 325
Terras Devolutas 332
Trabalho Escravo 436
Quilombolas 131; 224; 234; 239
Kalunga 131
Quilombos 234; 239; 467
Decreto n 4.887/03 234; 486
Quilombo da Caandoca 235
R
Ransom Myers 321
ReabilitaoFlorestal 290
Reciclagem 402
Recifes 201
Recuperao de reas Degradadas 159; 289
Recuperao Florestal 288; 290
Recursos Genticos 239; 254; 476; 486
Recursos Hdricos Veja gua
Recursos Pesqueiros 321
Reduo Compensada 366
Reforestamento 290
Reforma Agrria 329
Reforma Tributria Sustentvel 451
Refgio de Vida Silvestre RVS 268
Regenerao Natural 290
Regies Hidrogrfcas Brasileiras 294
Repartio de Benefcios 238; 486
Reserva Biolgica (Rebio) 268
Reserva de Desenvolvimento Sustentvel
(RDS) 268
Reserva de Fauna (REF) 268
Reserva Extrativista (Resex) 225; 267; 268; 466
Decreto n 98.897/90 267
Reserva Legal RL 274; 483
Reserva Particular do Patrimnio Natural
(RPPN) 152; 188; 268; 411
Reservas de Biosfera 264
Responsabilidade Socioambiental
Corporativa 447; 452; 488
Ressonncia Schumann 37
Restaurao Florestal 290
Restinga 148; 200
Revoluo Verde 415
Ribeirinhos 224
Rima 449
Rio Ribeira de Iguape 300
Rio+10 45; 497
Rio-92, ECO-92 45; 448; 496
Riscos Socioambientais 456; 479
Ronan Cares de Brito 205
S
Salinas 181
Salmo 43
Salvador Allende 332
Sambaquis 202
Saneamento Bsico 303
Planasa 303
Lei n 11.445/06 307
PNAD 306
Sapopema 427
Sater-Maw 427
Projeto Guaran 427
Segurana Alimentar 421
Seqestro de Carbono 364; 374
Seringueiros 86; 224; 464
Aliana dos Povos da Floresta 465
Empates 86; 464
Serra do Amolar 190
Sertanejo 116
Servio Florestal Brasileiro 485
Servios Ambientais 459
SINGREH 302; 306
Sipam 89
Sistema Nacional de Contas Pblicas 431
Sistema Nacional de UCs 263; 483
Sistema Nacional dos Recursos Hdricos 483
Sistema Paran-Paraguai de
reas midas 189
Sistema Plantio Direto 143; 335
Sistema Solar 25; 28
Sistemas Agroforestais 288; 416
Situao Fundiria Questo Fundiria 325
Sivam 89
Sobrepesca 321
Socioambientalismo 461
Sociodiversidade 34
Soja 259
Solo 333; 408
Areizao 176; 333
Conservao 335
Degradao 335
Desertifcao 123; 126; 333
Conveno de Combate
Desertifcao 123; 479
Eroso 141; 198; 207
Poluio 408; 456
Terra Preta Arqueolgica TPA 102; 334
Sudene 122; 123
Sumama 252
Sustentabilidade Ambiental 433
Sustentabilidade da Minerao 356
Sustentabilidade do Desenvolvimento 455
Sustentabilidade Forte 441
Sustentabilidade Fraca 441
T
Tartaruga 206
Taxao Ambiental 451
Teoria da Gravitao Universal 29
ALMANAQUE BRASIL SOCIOAMBIENTAL 551
NDICE REMISSIVO
Teoria da Relatividade Geral 29
Teoria do Duplo Dividendo 451
Terra do Meio 94; 265
Terra Preta Arqueolgica - TPA 102; 334
Terras Devolutas 332
Terras dos Quilombolas Veja Quilombos
Terras Indgenas 233; 237; 262; 325; 486
Decreto n 1.775 262; 486
Ecoturismo em TIs 474
Minerao em TIs 354
Parque Indgena do Xingu 233; 278
TI Panar 237
TI Roosevelt (RO) 355
TI Yanomami (RR) 355; 466
Ticuna 465
Tipos Climticos 371
Tom Jobim 150; 252; 382
Trabalho Escravo 436
Trfco de Animais Silvestres 149; 248
Transgnico 259; 260
Transportes 336
Caos Areo 337
Estradas 336; 338
BR-163 338; 468
BR-364 464
Hidrovias 314
Araguaia-Tocantins 141; 489
Impacto Ambiental 314
Paran-Paraguai 182; 314
Matriz Multi-Modal 337
Urbano 409; 412
Transposio do Rio So Francisco 124; 468
Transversalidade 78; 450
Tratado de Cooperao Amaznica 50; 328
Tratado de Livre Comrcio 50
Tratados Internacionais 432; 476
Turismo 181; 313; 469
Cerrado 140
Ecolgico 183
Pesqueiro 183
Sustentvel 469
Certifcao 474
Princpios do Turismo Sustentvel 471
U
Ulrich Schmidel 182
Umbu 167
Unidades de Conservao 114; 141; 246;
263; 355
Conselhos de Gesto 269; 483
Populaes em UCs 224; 269
SNUC (Lei n 9.985/00) 152; 263; 483
Decreto n 4.340/03 263
UCs de Proteo Integral
Esec 92; 268; 460; 464
Monat 268
Parna 112; 224; 268; 269; 382
Rebio 268
RVS 268
UCs de Uso Sustentvel
APA 268
Arie 268
Flona 268
RDS 268
REF 268
Resex 225; 267; 268; 466
RPPN 152; 188; 268; 411
Universo 24
Ano-Luz 25
Astrobiologia 30
Astronomia 25
Big Bang 24
Biosfera 26
Cosmogonia 25
Cosmologia 25
Galxias 25
Geocentrismo 29
Heliocentrismo 29
Idade das Trevas 26
Mtodo das Velocidades Radiais 30
Mtodo dos Trnsitos 31
Planetas 28
Exoplanetas 30
Planeta Anes 28
Pluto 28
Planetas Telricos 30
Sistema Solar 25; 28
Teoria da Gravitao Universal 29
Teoria da Relatividade Geral 29
Via Lctea 25
Zona Habitvel 31
Urbanismo-Urbanizao 34; 73; 380; 391; 396
Usinas Hidreltricas Veja Tambm Barragens
Usinas Hidreltricas 300; 346; 347; 463
Balbina 95; 346
Barra Grande 153; 161
Belo Monte 347
Itaipu 463
Serra da Mesa 133
Tucuru 347
V
Vale do Ribeira 151; 471
Vandana Shiva 255
Vanessa Camponez Cardinali 193
Vegetao 129; 133; 141; 148; 165
Vereda 139
Ver-o-Peso 93
Via Lctea 25
WZ
W.O. Schumann 37
William Beebe 250
Wilson Pinheiro 86
Xavante 489
Xaxim 145
Yanomami 228; 256; 355; 464; 466
Zona Costeira e Martima 197
Zona Costeira 195
Conveno da ONU sobre o Direito do Mar 478
Culinria 214
Cultura Caiara 197
Ecossistemas Costeiros 200
Fauna 206
Litoral Brasileiro 199
Mudanas Climticas 196
Msica 214
Ocupao 195; 207
Poluio 204; 207
Populao 195; 197; 199
Prosa & Verso 207
Recncavo da Bahia 204
Solo
Eroso 198; 207
Zonas Climticas 371
Zonas Especiais de Interesse Social 397
Zoneamento Ecolgico-Econmico 326
Decreto n 4.297/02 326
Este almanaque foi impresso em papel Reciclato 75g/m2
pela Ipsis Grfca, com tiragem de 25.000 exemplares, em outubro de 2007.
Você também pode gostar
- Seletora Grs 900Documento52 páginasSeletora Grs 900EdivaldoVeronese86% (22)
- Catalogo IMPERIAL 3 5 PDFDocumento176 páginasCatalogo IMPERIAL 3 5 PDFLucas Pereira de Jesus75% (4)
- WWF Agua para A Vida Guia de AtividadesDocumento76 páginasWWF Agua para A Vida Guia de Atividadesjusej100% (1)
- Trânsferência de Sólidos e LíquidosDocumento4 páginasTrânsferência de Sólidos e LíquidosTeiken1996Ainda não há avaliações
- Frases Albert EinsteinDocumento13 páginasFrases Albert EinsteinRobmixAinda não há avaliações
- U2L00019Documento552 páginasU2L00019Andréia AndréiaAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Sustentável e Interesses EconômicosDocumento6 páginasDesenvolvimento Sustentável e Interesses EconômicosWeslley ArrudaAinda não há avaliações
- ICL Ebook AntropocenoDocumento38 páginasICL Ebook AntropocenoPauloAinda não há avaliações
- Artigo Ed. AmbientalDocumento6 páginasArtigo Ed. AmbientalabarbosaprattiAinda não há avaliações
- Aquino (2021)Documento12 páginasAquino (2021)JéssicaAinda não há avaliações
- Contextos Rurais e Agenda Ambiental No Brasil - Gerhardt Et AllDocumento207 páginasContextos Rurais e Agenda Ambiental No Brasil - Gerhardt Et AllyarapcaAinda não há avaliações
- História e Meio Ambiente Tempo Passado, Tempo PresenteDocumento91 páginasHistória e Meio Ambiente Tempo Passado, Tempo PresenteTaelonAinda não há avaliações
- Zhouri, Andréa - Desenvolvimento, Reconhecimento de Direitos e Conflitos TerritorialesDocumento366 páginasZhouri, Andréa - Desenvolvimento, Reconhecimento de Direitos e Conflitos TerritorialesLucas Maciel50% (2)
- De Ação de Governo à Política de Estado: O Caso das Áreas Protegidas no Estado do Espírito Santo Entre 1940 e 2000No EverandDe Ação de Governo à Política de Estado: O Caso das Áreas Protegidas no Estado do Espírito Santo Entre 1940 e 2000Ainda não há avaliações
- Meio Ambiente e Qualidade de VidaDocumento11 páginasMeio Ambiente e Qualidade de VidaCaetano RodriguesAinda não há avaliações
- Desafios E Perspectivas Em Meio Às Transformações SocioterritoriaisNo EverandDesafios E Perspectivas Em Meio Às Transformações SocioterritoriaisAinda não há avaliações
- Apostila Desenvolvimento SustentávelDocumento21 páginasApostila Desenvolvimento SustentávelMurilo CorrocherAinda não há avaliações
- Plano de Estudo Tutorado Geografia Vol. 2 9ºanoDocumento18 páginasPlano de Estudo Tutorado Geografia Vol. 2 9ºanoLaryssaTononAinda não há avaliações
- Gestão Ambiental PDFDocumento103 páginasGestão Ambiental PDFdaiane taisAinda não há avaliações
- Educação Ambiental e Agroecologia No PPP Da Escola Do CampoDocumento13 páginasEducação Ambiental e Agroecologia No PPP Da Escola Do CampoJosé Luccas CamposAinda não há avaliações
- História ambiental-LIVRODocumento202 páginasHistória ambiental-LIVROJoaquin CamachoAinda não há avaliações
- 2019 BeatrizLeiteMacielDosSantos - TGIDocumento42 páginas2019 BeatrizLeiteMacielDosSantos - TGICarmen De MattosAinda não há avaliações
- 146 458 1 PBDocumento14 páginas146 458 1 PBroxannesouzaAinda não há avaliações
- Livro - Cadernos de Educação Ambiental EcocidadãoDocumento114 páginasLivro - Cadernos de Educação Ambiental EcocidadãoRutePinhoAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Sustentável e Geografia BrasileiraNo EverandDesenvolvimento Sustentável e Geografia BrasileiraAinda não há avaliações
- Carta de Motivação PDACPDS - INRDocumento1 páginaCarta de Motivação PDACPDS - INRRatitoAinda não há avaliações
- Libro DecolonialidadDocumento20 páginasLibro DecolonialidadJorge Mario Vera RodríguezAinda não há avaliações
- DOL 1 UNI E2 UNIDocumento53 páginasDOL 1 UNI E2 UNIJade AnaAinda não há avaliações
- Livro Cidades SustentaveisDocumento224 páginasLivro Cidades Sustentaveisvirginiaufpi100% (1)
- Descida Ecológica No Rio Uru, Heitoraí-Go Como Prática de Educação AmbientalDocumento6 páginasDescida Ecológica No Rio Uru, Heitoraí-Go Como Prática de Educação AmbientalPELÁ, Márcia Cristina100% (2)
- Projeto de Intervenção - Ciências e Geografia - Água e Meio Ambiente - I UnidadeDocumento5 páginasProjeto de Intervenção - Ciências e Geografia - Água e Meio Ambiente - I UnidadeMiguel EvangelisttaAinda não há avaliações
- 506-Texto Do Artigo-1418-1-10-20220720Documento17 páginas506-Texto Do Artigo-1418-1-10-20220720samuelAinda não há avaliações
- Cartilha Sustentabilidade - The Natural StepDocumento24 páginasCartilha Sustentabilidade - The Natural StepKarla DanitzaAinda não há avaliações
- Miolo - Conflitos Ambientais e Urbanos FinalDocumento206 páginasMiolo - Conflitos Ambientais e Urbanos FinalAdvogada Gabriela RegisAinda não há avaliações
- Ciências em Sintonia: Explorando Conexões entre Exatas e Naturais - Volume 2No EverandCiências em Sintonia: Explorando Conexões entre Exatas e Naturais - Volume 2Ainda não há avaliações
- Mcecilia, Journal Manager, A Relação Do Homem Com A Natureza e Seus Aspectos Psicológicos Na Destruição e Preservação AmbientalDocumento12 páginasMcecilia, Journal Manager, A Relação Do Homem Com A Natureza e Seus Aspectos Psicológicos Na Destruição e Preservação AmbientalMarina RiveroAinda não há avaliações
- Desenvolvimento SustentávelDocumento92 páginasDesenvolvimento SustentávelAdalmiran BarrosAinda não há avaliações
- Pré-Projeto Mestrado RuralDocumento11 páginasPré-Projeto Mestrado RuralTadeu LimaAinda não há avaliações
- Alfabetização Ecológica - Manual Do Educador - Filipe FreitasDocumento67 páginasAlfabetização Ecológica - Manual Do Educador - Filipe FreitasFilipe FreitasAinda não há avaliações
- Ciências Da Natureza E Suas Tecnologias: E.E. Moacyr de MattosDocumento53 páginasCiências Da Natureza E Suas Tecnologias: E.E. Moacyr de MattosOzeias de PaulaAinda não há avaliações
- MITCHELL - HEIDRICH - Corredores Ecológicos - II NEERDocumento11 páginasMITCHELL - HEIDRICH - Corredores Ecológicos - II NEERÁlvaroLuizHeidrichAinda não há avaliações
- Sustentabilidade: Muito Ainda Por Dizer...No EverandSustentabilidade: Muito Ainda Por Dizer...Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Conflitos socioambientais: uma abordagem interdisciplinarNo EverandConflitos socioambientais: uma abordagem interdisciplinarAinda não há avaliações
- Fichamento de Ciencias Do Meio Ambiente e Da SustentabilidadeDocumento5 páginasFichamento de Ciencias Do Meio Ambiente e Da SustentabilidadeSamuelMouraAinda não há avaliações
- Meio Ambiente e Relatos HistóricosDocumento14 páginasMeio Ambiente e Relatos HistóricosTha FogarolliAinda não há avaliações
- Narrativas da Educação Ambiental e do Ambientalismo em um Contexto HistóricoNo EverandNarrativas da Educação Ambiental e do Ambientalismo em um Contexto HistóricoAinda não há avaliações
- Resumo Crítico Artigo Educação AmbientalDocumento3 páginasResumo Crítico Artigo Educação AmbientalCíntia MáximoAinda não há avaliações
- Historia Do AmbientalismoDocumento23 páginasHistoria Do AmbientalismosulimarptAinda não há avaliações
- Responsabilidade Socioambiental UninassauDocumento113 páginasResponsabilidade Socioambiental UninassauDavi Candido de AlencarAinda não há avaliações
- Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em Tempos de Pandemia: Desejamos um Mundo Melhor para 2030No EverandObjetivos de Desenvolvimento Sustentável em Tempos de Pandemia: Desejamos um Mundo Melhor para 2030Ainda não há avaliações
- Sustentabilidade e Meio AmbienteDocumento607 páginasSustentabilidade e Meio AmbienteSammy TomazAinda não há avaliações
- Áreas Verdes Urbanas e Serviços EcossistêmicosDocumento195 páginasÁreas Verdes Urbanas e Serviços EcossistêmicosTaelonAinda não há avaliações
- Pontes Nas Securas Das Águas Reflexões Sobre As Mudanças Climáticas e Justiça Climática em Comunidades QuilombolasDocumento13 páginasPontes Nas Securas Das Águas Reflexões Sobre As Mudanças Climáticas e Justiça Climática em Comunidades QuilombolasZdravstvuyte MolodykhAinda não há avaliações
- Permacultura e Agroecologia - Layout FinalDocumento40 páginasPermacultura e Agroecologia - Layout Finalmarcelo hsarAinda não há avaliações
- Lista-Geografia Quarentena 6ºANODocumento3 páginasLista-Geografia Quarentena 6ºANOVolnei Martins FerreiraAinda não há avaliações
- Montar A Cidade - ValériaDocumento4 páginasMontar A Cidade - Valériapedro freitasAinda não há avaliações
- Aula 03 Educação AmbientalDocumento37 páginasAula 03 Educação AmbientalBruno Rodrigues dos SantosAinda não há avaliações
- EbookGEPPIP. Diálogos - Processos IdentitariosDocumento208 páginasEbookGEPPIP. Diálogos - Processos Identitariosh6zvcb7nn2Ainda não há avaliações
- A Percepção Ambiental Da Comunidade Do Entorno Da Lagoa Do Ipaba-MGDocumento8 páginasA Percepção Ambiental Da Comunidade Do Entorno Da Lagoa Do Ipaba-MGTHIANARTUR CAZAIS QUELHASAinda não há avaliações
- Educacao Ambiental e SustentabilidadeDocumento78 páginasEducacao Ambiental e SustentabilidadeRaissa SandesAinda não há avaliações
- Meio Ambiente, População e Gestão Dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) - Estudo de Caso de Perus SPDocumento27 páginasMeio Ambiente, População e Gestão Dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) - Estudo de Caso de Perus SPGabriel FariasAinda não há avaliações
- Sustentabilidade Ambiental em DebateDocumento111 páginasSustentabilidade Ambiental em DebateJOSÉ OZILDO DOS SANTOSAinda não há avaliações
- Manual para Vigilância Do Desenvolvimento Infantil No Contexto Da AIDPI PDFDocumento54 páginasManual para Vigilância Do Desenvolvimento Infantil No Contexto Da AIDPI PDFAna Elisa VilarAinda não há avaliações
- Cadernos de Atenção Básica - Saúde Da CriançaDocumento113 páginasCadernos de Atenção Básica - Saúde Da CriançaTENILE FONSECA ALBA100% (1)
- Desenhos de Estudos CientíficosDocumento6 páginasDesenhos de Estudos CientíficosFrederico Valim100% (4)
- Med ArteDocumento7 páginasMed ArteFrederico ValimAinda não há avaliações
- Livro HematologiaDocumento36 páginasLivro HematologiaNathalia Guimarães Nogueira100% (1)
- Dissert Fiorin Eliane PDFDocumento270 páginasDissert Fiorin Eliane PDFMaria Da Paz RodriguesAinda não há avaliações
- Leis de Newto 1Documento2 páginasLeis de Newto 1Priscila WilkerAinda não há avaliações
- Metalurgia em AngolaDocumento6 páginasMetalurgia em AngolaVitorino Chipungo100% (2)
- Prova 413 AR PDFDocumento29 páginasProva 413 AR PDFKaiary FerreiraAinda não há avaliações
- Slides de Lentes Esféricas e AmetropiasDocumento24 páginasSlides de Lentes Esféricas e AmetropiasMauro Fontinelli FilhoAinda não há avaliações
- Vidros BioquimicaDocumento6 páginasVidros BioquimicaChris Baurim SafirAinda não há avaliações
- Enem - 3 Ano Mes OutubroDocumento6 páginasEnem - 3 Ano Mes OutubroIsaac Pereira DinizAinda não há avaliações
- Zoneamento PDFDocumento42 páginasZoneamento PDFKarenCruz100% (1)
- Aula 4 Biorreatores 2019.2Documento55 páginasAula 4 Biorreatores 2019.2Catharina DiasAinda não há avaliações
- AntenasDocumento38 páginasAntenasEmília Targa Nunes GalvãoAinda não há avaliações
- Fispq Ácido PeracèticoDocumento10 páginasFispq Ácido Peracèticoatanaeln751Ainda não há avaliações
- Restauração de Documentos UNBDocumento72 páginasRestauração de Documentos UNBestelacrcAinda não há avaliações
- Queda de Meteoro - A Ameaça Que Vem Do Espaço - Resumo Das Disciplinas - UOL Vestibular PDFDocumento3 páginasQueda de Meteoro - A Ameaça Que Vem Do Espaço - Resumo Das Disciplinas - UOL Vestibular PDFdanieneyeshuaAinda não há avaliações
- Defeitos Da Visao Instrumentos OpticosDocumento19 páginasDefeitos Da Visao Instrumentos OpticosCamila Pires0% (1)
- Roteiro 6ºano - CartografiaDocumento5 páginasRoteiro 6ºano - CartografiaMarcia CariniAinda não há avaliações
- Tema 04 - Lajes MaciçasDocumento59 páginasTema 04 - Lajes MaciçasEdilberto BorjaAinda não há avaliações
- F CoriolisDocumento5 páginasF CoriolisRafaelflegmaAinda não há avaliações
- Aula 36 - Leis de Newton Aplicada em Sistemas 2Documento2 páginasAula 36 - Leis de Newton Aplicada em Sistemas 2Paull Victhor100% (1)
- Regressão OrdinalDocumento34 páginasRegressão OrdinalJansen CamposAinda não há avaliações
- PME3301 Termodinamica Slides Completo 2016Documento488 páginasPME3301 Termodinamica Slides Completo 2016ClaudioTRodriguesAinda não há avaliações
- Propriedades Coligativas PDFDocumento80 páginasPropriedades Coligativas PDFLouise JaianneAinda não há avaliações
- CurriculoDocumento4 páginasCurriculoEmerson Gomes ToledoAinda não há avaliações
- Catalogo MARTINDocumento16 páginasCatalogo MARTINJhoneeeAinda não há avaliações
- Exercícios de Movimento OscilatórioDocumento9 páginasExercícios de Movimento OscilatórioVictor De Souza AlmeidaAinda não há avaliações
- ELT039 Tecnicas de Controle de Processos IndustriaisDocumento3 páginasELT039 Tecnicas de Controle de Processos Industriaisolwenntaron1707Ainda não há avaliações
- FISPQ - Coral - Wanderpoxy - Base Brilhante - BrancoDocumento12 páginasFISPQ - Coral - Wanderpoxy - Base Brilhante - BrancoKarol0% (3)