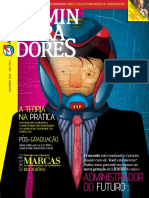Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Atendimento em Unidade de Emergencia
Atendimento em Unidade de Emergencia
Enviado por
Anonymous 44AWLoWTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Atendimento em Unidade de Emergencia
Atendimento em Unidade de Emergencia
Enviado por
Anonymous 44AWLoWDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Artigo Reviso
Atendimento em unidade de emergncia: organizao e
implicaes ticas
Healthcare in emergency units: organization and ethical implications
Atencin en una unidad de emergencia: organizacin e implicancias ticas
Mrcia Adriana Poll1, Valria Lerch Lunardi2, Wilson Danilo Lunardi Filho3
RESUMO
Neste texto temos como objetivo apresentar uma reflexo sobre questes organizacionais, bem como possveis implicaes ticas, que
permeiam a prtica da equipe de sade, numa unidade de urgncia/emergncia, no atendimento a vtimas de trauma decorrente de acidente
e/ou violncia. Inicialmente, focalizamos o atendimento s causas externas e sua relao com a organizao do trabalho e a tica no ambiente
hospitalar, abordando, a seguir, a dimenso tica no atendimento de urgncias/emergncias. As questes organizacionais e ticas necessitam
ser assumidas, tanto pelos gestores quanto pela equipe de sade que atua nestas unidades, j que, mesmo na precariedade, os profissionais
tentam atender s vtimas de trauma, visando beneficncia, ainda que danos possam advir de um atendimento prestado em condies
inadequadas.
Descritores: tica; Causas externas; Servio hospitalar de emergncia/organizao & administrao; Equipe de assistncia ao paciente
ABSTRACT
This text aims to present a reflection about organizational issues, as well as possible ethical implications permeating the practice of the
healthcare team at an urgency/emergency unit, providing care to victims of trauma from accidents or violence. Initially, we focused on care
for external causes and its relation with work organization and ethics in the hospital environment, followed by an analysis of the ethical
dimension of urgency/emergency services. The organizational and ethical issues need to be assumed by both the managers and the healthcare
team working at these units since, even in precarious conditions, the professionals attempt to care for trauma victims, aiming at beneficence,
even if this healthcare could cause harm when provided in inadequate conditions.
Keywords: Ethics; External causes; Emergency service, hospital/organization & administration; Patient care team
RESUMEN
En este texto tenemos como objetivo presentar una reflexin sobre asuntos organizacionales, as como tambin las posibles implicancias
ticas, que permean la prctica del equipo de salud, en una unidad de urgencia/emergencia, en la atencin a vctimas de trauma resultante de
un accidente y/o violencia. Inicialmente, enfocamos la atencin a las causas externas y su relacin con la organizacin del trabajo y la tica
en el ambiente hospitalario, abordando, a seguir, la dimensin tica en la atencin de urgencias/emergencias. Los temas organizacionales y
ticos necesitan ser asumidos, tanto por los gestores como por el equipo de salud que trabaja en estas unidades, ya que, no obstante la
precariedad, los profesionales intentan atender a las vctimas de trauma, visando la beneficencia, a pesar de los daos que puedan surgir de una
atencin prestada en condiciones inadecuadas.
Descriptores: tica; Causas externas; Servicio de urgencia en hospital/organizacin & administracin; Grupo de atencin al paciente
1
2
3
Mestre em Enfermagem do Departamento de Enfermagem da Fundao Universidade de Cruz Alta UNICRUZ - Cruz Alta (RS), Brasil.
Doutora, Professora do Programa de Mestrado em Enfermagem da Fundao Universidade de Cruz Alta UNICRUZ - Cruz Alta (RS), Brasil.
Doutor, Professor do Programa de Mestrado em Enfermagem da Fundao Universidade de Cruz Alta UNICRUZ - Cruz Alta (RS), Brasil.
Autor Correspondente: Mrcia Adriana Poll
R. Cel. Martins, 787 - Centro - Cruz Alta - RS
CEP. 98005-210 E-mail: mpoll@comnet.com.br
Artigo recebido em 17/12/2007 e aprovado em 26/05/2008
Acta Paul Enferm 2008;21(3):509-14.
510
INTRODUO
Os traumas configuram-se em eventos ou leses que
podem ou no levar morte, originados por violncia ou
acidentes, denominados de causas externas*, cuja grande
variabilidade pode ser, desde uma fratura de colo de fmur
de uma pessoa idosa, at uma tentativa de homicdio/
suicdio de um jovem adulto: A violncia consiste em aes
humanas individuais, de grupos, classes, naes, ou omisses,
que ocasionam a morte de seres humanos, ou afetam sua
integridade fsica, moral, mental ou espiritual(1). Todas as
causas externas, desde colises com veculos, passando
por esfaqueamentos e suicdios at afogamentos, tm uma
coisa em comum: transferncia de energia(2). Assim, o
trauma pode ser definido como um evento nocivo que
advm da liberao de formas especficas de energia ou
de barreiras fsicas ao fluxo normal de energia(2).
Tais eventos s refletem a ponta de um enorme iceberg,
pois a magnitude das taxas de morbimortalidade ainda
muito maior, mesmo considerando-se a existncia de subregistros, com grande repercusso socioeconmica, no
somente, em nosso pas, mas mundialmente(4-6) .
O problema das causas externas tomou forma, no
Brasil, desde a dcada de 1960, acompanhando o
processo de urbanizao. Em 1930, 2% das mortes
deviam-se violncia e acidentes; em 1980, 10,5%,
atingindo 13,5% aproximadamente no final da dcada
de 1990. Durante estas duas dcadas, as causas externas
permaneceram em segundo lugar em morbimortalidade,
abaixo das enfermidades cardiovasculares(1,7). Entre 2000
e 2004, a mortalidade por causas externas passou a ocupar
o terceiro lugar(5,8) retornando, em 2005, ao segundo lugar
em mortalidade geral no pas e em sexto lugar em
internaes hospitalares(9).
O impacto desse problema pode ser melhor
entendido quando se faz uma avaliao dos Anos de
Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), devido aos
traumas atingirem crianas, jovens e adultos jovens,
numa faixa etria ampla, dos 5 aos 49 anos de idade,
principalmente dos 15 aos 29 anos(1). Estas situaes,
quando comparadas expectativa de vida de 71,3 anos
atingida em 2003, sugerem que a expectativa de vida
poderia ser bem maior, em torno de 73,8 anos(10), caso
no houvessem tantas mortes ocasionadas por causas
externas, acometendo principalmente a populao
Os acidentes e as violncias configuram um conjunto de agravos
sade que podem ou no levar a bito, e nos quais se incluem as
causas ditas acidentais - devidas ao trnsito, trabalho, quedas,
envenenamentos, afogamentos e outros tipos de acidentes - e as
causas intencionais (agresses e leses autoprovocadas). Esse
conjunto de eventos consta na Classificao Internacional de
Doenas - CID (OMS, 1985 e OMS, 1995) - sob a denominao de
causas externas. Quanto natureza da leso, tais eventos e/ou
agravos englobam todos os tipos de leses e envenenamentos, como
ferimentos, fraturas, queimaduras, intoxicaes, afogamentos, entre
outros(3).
Poll MA, Lunardi VL, Lunardi Filho WD.
masculina jovem(5,7). Dessa forma, h a necessidade de
buscarem-se elementos, que possam sugerir as razes de
tal retrocesso ao longo do tempo, e reduzir o impacto
dessas perdas, atravs de um olhar a violncia e os
acidentes como problemas sociais, e no apenas o trauma
causado por ambos, no que se refere ao atendimento s
vtimas nas unidades de emergncia(1,11-12).
O atendimento emergencial pode ser comprometido pelas
questes institucionais internas e externas que transcendem os
atos, atitudes e desejos dos trabalhadores da sade. Portanto,
como uma questo social, o aumento da morbimortalidade
ocasionada pelas causas externas reflete-se no atendimento
em unidades de emergncia, por meio das questes
organizacionais e ticas dos servios de sade, exigindo, cada
vez mais, dos profissionais da equipe de sade, a constante
atualizao, de modo a capacit-los a atender esta crescente
demanda, principalmente das vtimas acometidas de traumas
decorrentes de acidentes ou de violncias.
A complexidade das relaes que se estabelecem nesses
locais gera conflitos, dilemas e sofrimento aos trabalhadores,
com implicaes ticas no atendimento a esta populao.
Apesar dos altos ndices de vtimas de violncia, o modo
como as instituies de sade esto organizadas podem estar
comprometendo, ainda mais, tais ndices de morbidade e
mortalidade, j que no correspondem adequadamente s
necessidades de atendimentos destes usurios. Assim, temos
como objetivo apresentar uma reflexo sobre as questes
organizacionais e as possveis implicaes ticas que
permeiam a prtica da equipe de sade, no atendimento a
vtimas acometidas por traumas ou atos violentos, os quais
classificam-se como causas externas, numa unidade de
urgncia/emergncia**. Para essa reviso bibliogrfica, do
tipo narrativa, segundo Rother(14),selecionamos textos, dentre
os quais artigos, livros, teses, resolues e portarias divulgadas
entre 1995 e 2008, nas Bases de Dados SciELO, Biblioteca
Virtual em Sade e Banco de Teses da CAPES.
Assim, inicialmente focalizamos o atendimento s causas
externas e sua relao com a organizao do trabalho e a
tica no ambiente hospitalar, abordando, a seguir, a
dimenso tica permanentemente presente no atendimento
a urgncias e emergncias.
O ATENDIMENTO A VTIMAS DE CAUSAS
EXTERNAS: ORGANIZAO E TICA
A organizao da sade no Brasil est constituda por
meio de diversas modalidades de assistncia: segundo seu
modelo tecnolgico, em unidades de sade pblica e
atendimento hospitalar, decorrente do tipo de sistema, ou
Urgncia pode ser entendida comoa ocorrncia imprevista de agravo
sade com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de
assistncia mdica imediata. Emergncia a constatao mdica de
condies de agravo sade que impliquem em risco iminente de vida ou
sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento mdico imediato(13).
**
Acta Paul Enferm 2008;21(3):509-14.
Atendimento em unidade de emergncia: organizao e implicaes ticas
seja, privado, filantrpico, previdencirio e estatal; e, ainda,
segundo a incorporao tecnolgica e nveis assistenciais,
podendo ser de ateno bsica, secundria e terciria.
Dessa forma, a organizao de servios de sade no se
consolidou de forma homognea, existindo diversas
formas de produo de sade(15). Frente a esta diversidade
de modelos assistenciais encontra-se, hoje, dificuldade na
disposio de estruturas, sejam hospitalares ou no
hospitalares, pblicas ou privadas, capacitadas e
organizadas para recepo e atendimento de uma
populao em expanso, acometida por traumas
decorrentes de atos violentos e acidentes de toda natureza.
Organizao do trabalho em sade
Observa-se, ainda hoje, que a organizao do trabalho
nas instituies hospitalares est, basicamente, fundamentada
nas teorias da administrao clssica, cientfica e burocrtica,
assim como, tambm cristalizada, dominada e conformada
culturalmente pelas circunstncias situacionais do surgimento
do modelo neoliberal(16). Os hospitais inseridos no atual
contexto deste modelo necessitam de diversas fontes de
custeio para manter-se, utilizando-se de convnios privados,
cooperativas e, como principal fonte de renda, na maioria
das vezes, o Sistema nico de Sade (SUS). Porm,
mesmo os hospitais com grande dependncia do SUS
desfrutam razovel grau de autonomia para organizarem
seu prprio processo de trabalho e modelo assistencial(14).
Dessa forma, comum a falta de padres de
mensurao da qualidade do atendimento prestado, alm
de um gerenciamento eficaz do processo de trabalho, que
d conta das relaes entre trabalhadores, usurios,
instituies e gestores, buscando responder s diretrizes do
SUS(17). Assim, na atualidade, tanto em servios privados
quanto pblicos, observa-se um distanciamento entre
gestores, instituies, equipe de sade e clientela, gerando,
em vrios servios de sade, uma apatia burocrtica,
desinteresse e alienao, tornando-os paradigmticos da
indiferena e da falta de sensibilidade, diante do sofrimento
humano. Isso representa a medicalizao do usurio sem a
garantia da resoluo do seu problema, centrada,
freqentemente, apenas na consulta mdica e em condutas
de baixa resolutividade(17-19).
Portanto, pode-se concluir que muitos servios de
atendimento sade esto organizados submetendo a
qualidade do trabalho produo e direcionada em maior
escala, aos interesses econmicos e, em escala muito menor,
promoo do homem, seja como cliente, seja como
profissional(16). Fica evidente uma grave situao, referente
utilizao do bem pblico em benefcio do privado, uma
vez que os hospitais costumam oferecer ateno bsica,
especializada e de urgncia [...], segundo a modalidade de
pronto-atendimento(14), ou seja, atendimento imediatista
e de baixa resolutividade. Da a necessidade da qualificao
de gesto dos servios prestados populao, por meio
511
da incorporao mquina pblica de servios mais
eficientes, resolutivos e acolhedores, assim como a
necessidade de reflexes, na busca da eticidade e moralidade
dos profissionais na realizao do seu trabalho, numa
tentativa de romper com a subalternidade e a submisso
ao sistema organizacional, para prestar um atendimento
respeitando a pessoa humana em sua integralidade.
tica e sade
Na rea da sade, principalmente em unidades de
emergncia, muitas equipes que nelas desenvolvem suas
atividades prescindem do necessrio comprometimento
profissional, frente s diversas situaes organizacionais que
emergem, com implicaes ticas no atendimento,
necessitando ser discutidas e refletidas. Nessa concepo, a
eticidade aparece como uma condio humana de vir a ser
tico e a tica como fator emergente das emoes e da
racionalidade, guiadas pelo pressuposto da autonomia(20).
Desse modo, existem princpios bsicos que fundamentam
o fazer dos profissionais da rea da sade e funcionam como
guias de conduta para a tica profissional. So eles: respeito
autonomia, beneficncia, no maleficncia e justia(21).
Uma pessoa considerada autnoma, quando dotada
de habilidades para o autogoverno, sabe deliberar e fazer
escolhas. Assim, no ambiente dos servios de sade, deveria
haver a consulta aos usurios sobre seus desejos, opes e
planos, a partir de informaes claras e acessveis sobre o
processo sade-doena por eles vivenciado, respeitando
a dignidade do paciente, oferecendo a ele e a seus familiares
um acolhimento global, e no apenas limitado patologia
que justificou a assistncia(22). Por outro lado, tambm o
profissional da equipe tem direito autonomia, mesmo
que esta no seja plenamente exercida no ambiente de
trabalho, devido existncia de regras e padres hierrquicos
institucionais que necessitam ser seguidos.
O princpio da no maleficncia tem a rigorosa
incumbncia de no permitir prejudicar e no impor riscos.
O ato de cuidar compreende agir de maneira apropriada
para evitar danos, tal qual exigido de pessoas prudentes
e sensatas(21). Na equipe de sade, a m prtica profissional
constitui exemplo de maleficncia causada pela
inobservncia dos padres profissionais de cuidado.
O princpio da beneficncia busca prevenir e eliminar
danos, pesar e fazer um balano sobre os bens que traro
ou se subtrairo do cliente, cujo objetivo central prover
benefcios e promover o bem(21). Este princpio rege a
atividade profissional da maioria das equipes que trabalham
em unidades de emergncia, pois todos precisam atuar
baseados no fato de estarem prestando o bem, mesmo
que, diante de condies adversas para o atendimento,
prestem-no de forma extremamente corajosa, e at mesmo,
de modo improvisado, porm sempre visando o
restabelecimento emergencial de seus usurios.
O princpio da justia trata de aes distributivas, justas,
Acta Paul Enferm 2008;21(3):509-14.
512
eqitativas, apropriadas e determinadas por normas, que
se justificam estruturalmente nos termos da cooperao
social, estendendo-se aos direitos e responsabilidades dos
cidados, na sociedade, em termos civis e polticos. No
existe um nico princpio capaz de encaminhar todos os
conflitos nesta rea(21). Por isso, uma ao justa considera
os princpios da tica, em casos especficos que,
ponderados em contextos particulares, podem ser
analisados em sua real consistncia.
A dimenso tica no atendimento das urgncias/
emergncias
O sistema de sade, no Brasil, foi implantado com vrias
lacunas administrativas. Portanto, no se organizou
uniformemente, pois no dispondo de estrutura prpria e
capacitada, buscou a terceirizao do que lhe faltava ao
propsito inicial de dar cobertura assistencial integral a toda
a populao. No devemos esquecer o fato de haver um
custo econmico elevado para os cofres pblicos, quando
uma das fontes de renda dos hospitais privados passou a
ser o SUS. Por sua vez, a falta de indignao da populao,
em relao aos padres de qualidade para os atendimentos
aos usurios do SUS, contribui para que as instituies
privadas permaneam, ainda hoje, oferecendo-lhes uma
infra-estrutura precria, desrespeitando o direito
constitucional e ferindo os princpios ticos envolvidos no
atendimento sade de cada indivduo(14).
Outro fator de repercusso tica o desvio de usurios
do atendimento pblico para o atendimento privado,
onerando o paciente que poderia estar utilizando aquele
servio, embora ocupando o espao pblico para a prestao
do atendimento privado. Alm disso, h um custo para com
a eticidade dessa relao, que se alia aos interesses econmicos
mais do que em investimentos na promoo do ser humano,
usurio ou profissional do servio de sade(16).
A partir deste contexto organizacional e frente ao
vertiginoso crescimento da violncia e de acidentes,
buscamos estabelecer uma relao destes fatores com as
unidades de emergncia, portas de entrada da populao
acometida por leses decorrentes dessas situaes nos
servios de sade(11), uma vez que o que vemos na prtica,
em relao a estas unidades, que esto, na maioria das
vezes, estruturalmente desorganizadas e despreparadas para
atender ao que se propem e, principalmente, sem
profissionais suficientemente capacitados e amparados para
atuarem e acolherem a populao acometida por trauma
decorrente de acidente ou violncia. Ou seja, os profissionais
tm de enfrentar dificuldades decorrentes da burocratizao
do servio e da cristalizao das questes organizacionais,
com repercusses ticas, tais como: superlotao de
usurios, sobrecarga de trabalho, carncia qualitativa e
quantitativa de recursos humanos, estrutura fsica
inadequada, precariedade ou ausncia de equipamentos e
de materiais para o necessrio atendimento, dentre outros.
Poll MA, Lunardi VL, Lunardi Filho WD.
O problema da superlotao vem se agravando nos
locais de atendimento a urgncias/emergncias, fenmeno
conhecido, tanto pelas instituies de sade pblicas ou
privadas, sejam hospitalares ou da rede bsica, como pelos
profissionais de sade, usurios e populao. As
conseqncias so as elevadas taxas de ocupao dos leitos
de observao das emergncias, devido necessidade de
uma falsa resolutividade e acolhimento(9,17), bem como
uma elevada procura por consultas mdicas, muitas vezes
desnecessrias, o que implica custos individuais e
desperdcio de recursos pblicos, j que boa parte da
populao que procura este servio no necessita deste
tipo de atendimento, mas de atendimentos de baixa
complexidade, frequentemente voltados a doenas
crnicas no transmissveis prprias do processo de
envelhecimento da populao(23).
Nesta realidade, ainda com um modelo mdico-centrado,
as prprias unidades bsicas, ao excederem seus limites de
capacidade, ou ao finalizarem suas fichas de atendimento
mdico, direcionam pacientes aos servios de emergncia,
contribuindo para a superlotao destas unidades que,
sobrecarregadas, podem negligenciar parmetros,
descaracterizando-se de sua real finalidade, pois todos os
espaos vo sendo ocupados, gerando dificuldades para a
realizao de qualquer tipo de ao, at mesmo o atendimento
s necessidades mais bsicas do ser humano(17).
Dessa forma, freqentemente usurios so questionados
diante de todos aqueles que dividem um espao restrito,
pela proximidade dos leitos. As abordagens feitas pela
equipe de sade so presenciadas por todos que ali se
encontram e a privacidade constantemente violada(24-25).
Estas situaes demonstram as limitaes do ambiente,
que submetem os usurios a constrangimentos fsicos e
morais, ferindo princpios de justia, pois todos possuem
o direito de ser respeitados na sua autonomia como
cidados, e de receber atendimento com estrutura fsica,
recursos materiais e equipamentos compatveis com suas
necessidades, prestado por equipe qualificada para este fim.
A superlotao dos pronto atendimentos alm de
provocar um bvio desgaste, devido sobrecarga de
trabalho, causa ainda, um sentimento de desperdcio da
vocao maior do servio que seria salvar vidas, bem como
de subutilizao do alto preparo tcnico dos
profissionais(17).
Sendo assim, o excesso de atividades parece levar os
profissionais da unidade de emergncia a trabalharem, de
forma constante, sob presso e sobrecarga mental. Esta
condio pode favorecer a ocorrncia de acidentes de
trabalho e sofrimento psquico, alm do surgimento de
doenas psicossomticas de diversas naturezas, bem como
conduzir ao uso abusivo de medicaes controladas;
consumo de lcool e outras drogas lcitas ou ilcitas;
absentesmo; rotatividade; conflitos profissionais e
processos administrativos de ordem disciplinar. Frente a
Acta Paul Enferm 2008;21(3):509-14.
513
Atendimento em unidade de emergncia: organizao e implicaes ticas
todas estas questes vivenciadas, a equipe ainda necessita
estar preparada e qualificada para minimizar os fatores de
agresso representados de diversas formas, em momentos
crticos e situaes de crises emocionais, com equilbrio
para tomar decises de toda ordem(17, 26-28).
A equipe que atua na unidade de emergncia necessita
estar preparada com o mais alto nvel de profissionalizao
para atender aos usurios acometidos por causas externas,
principalmente em se tratando de um setor onde a lgica e o
pensamento voltam-se ao modelo biomdico. Dessa forma,
a educao continuada e permanente, assim como os
treinamentos para utilizao de protocolos de atendimento
imediato ao trauma, possibilitam maior autonomia aos
profissionais da equipe de sade, rompendo paradigmas e
exigindo transformaes conceituais no atendimento a esta
populao especfica(1,6,18,29).
A qualificao dos recursos humanos na prestao de
atendimento aos servios pr-hospitalares, hospitalares e
de reabilitao, bem como, a tentativa crescente de
conhecer o impacto da violncia sobre a sade, requer
novas habilidades, equipamentos e organizao do sistema
de sade, com uma estrutura fsica planejada,
equipamentos, materiais e equipes completas, considerando
as caractersticas do hospital, com o objetivo de atender
a finalidade qual se destina(9,29-30). Esses desafios exigem
amplas reflexes, decises e aes, que fazem parte das
polticas pblicas, dentre elas a Poltica Nacional de
Reduo de Acidentes e a Violncias(9,31).
CONSIDERAES FINAIS
Os traumas decorrentes de acidentes, assim como da
violncia so problemas epidemiolgicos de grande
repercusso, no somente em paises em desenvolvimento,
mas mundialmente, acometendo a todos, sem distino
de nacionalidade ou classe social, com grande impacto na
rea da sade. Frente contundncia dos acidentes e da
violncia e o impacto que representam na sade, os
profissionais desta rea necessitam conscientizar-se da
gravidade do problema, pois uma condio de difcil
tratamento e extremamente onerosa. Por isso, h
necessidade de um sistema verdadeiramente integrado de
atendimento (rede bsica, setor secundrio e tercirio), e
qualificao da equipe, por meio de polticas pblicas
eficientes, para tentarmos reduzir a morbimortalidade
desta populao especifica, pois possvel agir frente a
esse fenmeno em uma lgica de preveno, promoo
e valorizao da vida(31).
As questes organizacionais das unidades de
emergncia e suas implicaes ticas necessitam ser
assumidas, tanto pelos gestores da sade quanto pela
equipe de sade que atua nestas unidades, pois apesar das
condies de atendimento intra hospitalar ainda no
estarem como preconizado pelas polticas pblicas, os
profissionais necessitam atender s vtimas do trauma,
visando beneficncia e buscando reduzir o risco de
danos associados a esse tipo de atendimento.
Embora esta discusso ainda seja limitada, sempre
haver a possibilidade de que, em outros estudos, se
aprofundem aspectos que envolvam organizao, tica e
atendimento nos servios de emergncia, o que contribuir
para diminuir a distncia entre a baixa produo cientfica
sobre o tema no Brasil, comparada com a enorme
importncia que esse problema epidemiolgico representa
para a populao, no s em termos sociais, econmicos,
mas de respeito vida humana.
REFERNCIAS
1.
Minayo MCS. Violncia: um velho-novo desafio para a
ateno sade. Rev Bras Educ Med. 2005; 29(1):55-63.
2. Comit do PHTLS da National Association of Emergency
Medical Technicians (NAEMT) em colaborao com o
Comit de Trauma do Colgio Americano de Cirurgies.
Atendimento pr-hospitalar ao traumatizado: bsico e
avanado. Rio de Janeiro: Elsevier; 2004. p.10-29. [Traduo
do original: PHTL basic and advanced prehospital trauma
life support].
3. Brasil. Ministrio da Sade. Biblioteca Virtual em Sade.
Acidente e violncias: conceito [Internet]. Braslia (DF):
Ministrio da Sade; 2008. [citado 2008 Abr 6]; Disponvel
em: http://bvsms2.saude.gov.br/php/level.php?lang=
pt&component=51&item=40
4. Dahlberg LL, Krug EG. Violncia: um problema global de
sade pblica. Cienc Saude Coletiva. 2006; 11(Supl): 116378.
5. Souza ER, Lima MLC. Panorama da violncia urbana no
Brasil e suas capitais. Cienc Saude Coletiva. 2006; 11(Supl):
1211-22.
6. Minayo MCS. A incluso da violncia na agenda da sade:
trajetria histrica. Cienc Saude Coletiva. 2006; 11(Supl):
1259-67.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Schraiber LB, DOliveira AFPL, Couto MT. Violncia e sade:
estudos cientficos recentes. Rev Saude Publica = J Public
Health. 2006; 40(N Esp): 112-20.
Pereira WAP, Lima MADS. Atendimento pr-hospitalar:
caracterizao das ocorrncias de acidente de trnsito. Acta
Paul Enferm. 2006; 19(3): 279-83.
Deslandes SF, Souza ER, Minayo MCS, Costa CRBSF,
Krempel M, Cavalcanti ML, et al . Diagnostic characterization
of services providing care to victims of accidents and violence
in five Brazilian state capitals. Cienc Saude Coletiva. 2006;
11(2):385-96.
Leal LN. Expectativa de vida: 71,3 anos. JC e-mail 2659, de
02 de Dezembro de 2004. [Internet] . SBPC; c2002. [citado
2008 Jul 14 [ cerca de 2 p.]. Disponvel em: http://
www.jornaldaciencia.org.br/Detalhe.jsp?id=23648
Deslandes SF. O atendimento s vtimas de violncia na
emergncia: preveno numa hora dessas? Cienc Saude
Coletiva. 1999; 4(1): 81-94.
Leal SMC, Lopes MJM. A violncia como objeto da assistncia
em um hospital de trauma: o olhar da enfermagem. Cienc
Saude Coletiva. 2005; 10(2):419-31.
Brasil. Conselho Federal de Medicina. Resoluo CFM n
1451/95, de 10 maro 1995 [Internet]. So Paulo: CFM;
Acta Paul Enferm 2008;21(3):509-14.
514
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Poll MA, Lunardi VL, Lunardi Filho WD.
c2003-2006. [citado 2006 Jan 31]. Disponvel em: http://
www.cremesp.org.br/administra/deptos/def/doc/
RESOLUCAO_CFM_145195.doc
Rother ET. Reviso sistemtica X reviso narrativa [ editorial].
Acta Paul Enferm. 2007; 20(2):v-vi.
Campos GWS. Consideraes sobre a arte e a cincia da
mudana: revoluo das coisas e reforma das pessoas. O
caos da sade. In: Cecilio LCO, organizador. Inventando a
mudana na sade. 3a ed. So Paulo: Hucitec; 2006. p. 2987.
Lunardi Filho WD. O mito da subalternidade do trabalho
da enfermagem medicina. Pelotas: Ed. Universitria UFPel;
2004.
Marques GQ, Leal SMC, Lima MADS, Bonilha ALL, Lopes
MJM. As prticas e o cotidiano de profissionais em servios
pblicos de sade, na tica de estudos acadmicos. Online
Braz J Nurs (Online). 2007; 6(2): 1-5.
Bittencourt RJ, Hortale VA. A qualidade nos servios de
emergncia de hospitais pblicos e algumas consideraes
sobre a conjuntura recente no municpio do Rio de Janeiro.
Cienc Saude Coletiva. 2007; 12(4): 929-34.
Cecilio LCO, organizador. Inventando a mudana na sade.
3a ed. So Paulo: Hucitec; 2006.
Cohen C, Segre M. Breve discurso sobre valores, moral,
eticidade e tica. In: Segre M, Cohen C, organizadores.
Biotica. 2a ed. ampl. So Paulo: EDUSP; 1999. p. 13-22.
Beauchamp TL, Childress JF. Princpios de tica biomdica.
So Paulo: Loyola; 2002.
Gianberardino Filho D. Biotica em emergncias peditricas.
In: Urban CA, editor. Biotica clnica. Rio de Janeiro:
Revinter; 2003. p. 384-9.
Dias-da-Costa JS, Olinto MTA, Gigante DP, Menezes AMB,
Macedo S, Dalto T, et al. Utilizao de servios
ambulatoriais de sade em Pelotas, Rio Grande do Sul,
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Brasil: alguns fatores relacionados com as consultas mdicas
acima da mdia. Cad Saude Publica = Rep Public Health.
2008; 24(2): 353-63.
Santos JS, Scarpelini S, Brasileiro SLL, Ferraz CA, Dallora MELV,
S MFS. Avaliao do modelo de organizao da Unidade de
Emergncia do HCFMRP-USP, adotando, como referncia, as
polticas nacionais de ateno s urgncias e de humanizao.
Medicina (Ribeiro Preto). 2003; 36(2/4):498-515.
Costa ALRC. As mltiplas formas de violncia no trabalho
de enfermagem: o cotidiano de trabalho no setor de
emergncia e urgncia clnica em um hospital pblico [tese].
Ribeiro Preto: Escola de Enfermagem de Ribeiro Preto
da Universidade de So Paulo; 2005.
Belancieri MF, Bianco MHBC. Estresse e repercusses
psicossomticas em trabalhadores da rea da enfermagem
de um hospital universitrio. Texto & Contexto Enferm.
2004; 13(1):124-31.
Coutrin RMGS, Freua PR, Guimares CM. Estresse em
enfermagem: uma anlise do conhecimento produzido na
literatura brasileira no perodo de 1982 a 2001. Texto &
Contexto Enferm. 2003; 12(4):486-94.
Ghiorzi AR. O quotidiano dos trabalhadores em sade.
Texto & Contexto Enferm. 2003; 12(4):551-8.
Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade.
Poltica nacional de ateno s urgncias. Braslia: Editora
MS; 2004.
Pereira WR, Bellato R. A relao entre a precarizao do
ambiente fsico e o risco de infeco hospitalar: um olhar
sob a perspectiva da tica, dos direitos e da cidadania. Texto
& Contexto Enferm. 2004; 13(N Esp):17-24.
Gonalves L, Magalhes ZR. Acompanhamento do
trabalhador de enfermagem em reabilitao: a experincia de
um hospital universitrio. Texto & Contexto Enferm. 2003;
12(4):519-27.
Acta Paul Enferm 2008;21(3):509-14.
Você também pode gostar
- Projeto Integrador IIIDocumento39 páginasProjeto Integrador IIIMaria Antonia RibeiroAinda não há avaliações
- O Impacto Do S&OP Na Gestão Integrada Do NegócioDocumento10 páginasO Impacto Do S&OP Na Gestão Integrada Do NegócioDavid SantoAinda não há avaliações
- Primeiros Socorros em Pequenos AnimaisDocumento52 páginasPrimeiros Socorros em Pequenos Animaisbombeiromax100% (3)
- Plano Diretor Integrado UruacuDocumento78 páginasPlano Diretor Integrado UruacuGuilherme Ferreira SantosAinda não há avaliações
- Aprendizagem, Treinamento e Desenvolvimento de PessoasDocumento13 páginasAprendizagem, Treinamento e Desenvolvimento de PessoasAlexandre Aquino50% (2)
- Atividade Interdisciplinar em Grupo - 3º SemestreDocumento8 páginasAtividade Interdisciplinar em Grupo - 3º SemestremigascunhaAinda não há avaliações
- Oncologia 5Documento12 páginasOncologia 5Estação AçaíAinda não há avaliações
- Direitos Humanos Dos Profissionais de EnfermagemDocumento13 páginasDireitos Humanos Dos Profissionais de EnfermagemWania AlvesAinda não há avaliações
- Aula 10Documento16 páginasAula 10Ingryd BraynerAinda não há avaliações
- UntitledDocumento221 páginasUntitledVitoria FerreiraAinda não há avaliações
- 4648-Texto Do Artigo-15666-1-10-20180522Documento12 páginas4648-Texto Do Artigo-15666-1-10-20180522Marina TarginoAinda não há avaliações
- Atuação Da Enfermagem em Urgências e Emergências - EGov UFSCDocumento7 páginasAtuação Da Enfermagem em Urgências e Emergências - EGov UFSCAdaiele SilvaAinda não há avaliações
- Apostila Do Curso Triagem em Servicos de Urgencia e EmergenciaDocumento30 páginasApostila Do Curso Triagem em Servicos de Urgencia e EmergenciaTatiana ClementeAinda não há avaliações
- Eugenio VilaçaDocumento3 páginasEugenio VilaçaDaniela Aparecida Araujo FernandesAinda não há avaliações
- Acidente Do Trabalho Na Enfermagem e PrevençãoDocumento46 páginasAcidente Do Trabalho Na Enfermagem e Prevençãomariuzaum100% (1)
- Maqueiro - Apostila 2Documento20 páginasMaqueiro - Apostila 2Elaine Nobre100% (1)
- Psicologia No SAMUDocumento9 páginasPsicologia No SAMUHospital FlorianopolisAinda não há avaliações
- Guia de Prescrição Psiquiatrica Resumo PDFDocumento20 páginasGuia de Prescrição Psiquiatrica Resumo PDFPedro HenriqueAinda não há avaliações
- Aula 4 Ética e Humanização Sem As QuestõesDocumento14 páginasAula 4 Ética e Humanização Sem As QuestõesMarcela VitoriaAinda não há avaliações
- Organização de Primeiros Socorros Na EmpresaDocumento41 páginasOrganização de Primeiros Socorros Na EmpresaMARIA LAURA LOPEZAinda não há avaliações
- Atendimento Pré-Hospitalar (APH) - Apostila 1Documento20 páginasAtendimento Pré-Hospitalar (APH) - Apostila 1Emily Ketlen DelmondesAinda não há avaliações
- Psicologia Aplicada Ao Cuidado: Fernanda Egger BarbosaDocumento27 páginasPsicologia Aplicada Ao Cuidado: Fernanda Egger BarbosaRoh GPSAinda não há avaliações
- Sequelas Invisíveis Dos Acidentes de Trânsito - PSICODocumento10 páginasSequelas Invisíveis Dos Acidentes de Trânsito - PSICOmagrolia herreraAinda não há avaliações
- Abuso Moral Digital - BaixaDocumento88 páginasAbuso Moral Digital - BaixaTALITHA CEZARETTI B. FONSECAAinda não há avaliações
- Enfermagem em Urgência e Emergência Clínica e Cirúrgica 1Documento41 páginasEnfermagem em Urgência e Emergência Clínica e Cirúrgica 1Alessandra Santos100% (2)
- Acidente Vascular Cerebral IMPRIMIRDocumento30 páginasAcidente Vascular Cerebral IMPRIMIRPriscila Accácio100% (1)
- Primeiros SocorrosDocumento18 páginasPrimeiros SocorrosThiago AndradeAinda não há avaliações
- Trabalho Digno. Acidente Riscos PsicossocialDocumento1 páginaTrabalho Digno. Acidente Riscos Psicossocialkeisse0Ainda não há avaliações
- A Ética Na EmergênciaDocumento6 páginasA Ética Na EmergênciaSérgio Henrique100% (1)
- Apostila Do Curso Triagem em Servicos de Urgencia e EmergenciaDocumento22 páginasApostila Do Curso Triagem em Servicos de Urgencia e EmergenciaGrasyelle SouzaAinda não há avaliações
- PolitraumatismoDocumento12 páginasPolitraumatismoPaulo Fernando da SilvaAinda não há avaliações
- V9N2A6Documento19 páginasV9N2A6Pedro SantosAinda não há avaliações
- Intervenção em CriseDocumento10 páginasIntervenção em CriseJokersetAinda não há avaliações
- Percepções Dos Profissionais Da Saúde Sobre A Morte deDocumento13 páginasPercepções Dos Profissionais Da Saúde Sobre A Morte deKelly SilvaAinda não há avaliações
- Atls ResumidoDocumento24 páginasAtls ResumidoCarol Rocha100% (1)
- Letícia Soares Artigo Gestão Hospitalar 1Documento15 páginasLetícia Soares Artigo Gestão Hospitalar 1Aline LaudelinoAinda não há avaliações
- Atendimento Pré Hospitalar NovoDocumento142 páginasAtendimento Pré Hospitalar NovoReginaldo OliveiraAinda não há avaliações
- Angústias Psicológicas Vivenciadas Por Enfermeiros No Trabalho Com Pacientes em Processo de Morte 2018Documento11 páginasAngústias Psicológicas Vivenciadas Por Enfermeiros No Trabalho Com Pacientes em Processo de Morte 2018Talyta KlemanAinda não há avaliações
- Relatório - UE - Wesley MeletiDocumento119 páginasRelatório - UE - Wesley MeletiWesley M.SantosAinda não há avaliações
- Proejto Primeiros Socorros Na EscolaDocumento60 páginasProejto Primeiros Socorros Na EscolaVanusaAinda não há avaliações
- 08565718082016introducao A Saude Publica Aula 06Documento20 páginas08565718082016introducao A Saude Publica Aula 06hosana_rrAinda não há avaliações
- A Visão Holística Do PacienteDocumento3 páginasA Visão Holística Do PacienteJuliano AlbernazAinda não há avaliações
- Apostila Cuidados PaliativosDocumento41 páginasApostila Cuidados PaliativosFlavia BessoniAinda não há avaliações
- Erro Médico E Responsabilidade Civil: Fernando Gomes Correia-LimaDocumento96 páginasErro Médico E Responsabilidade Civil: Fernando Gomes Correia-LimaKarla GlatzlAinda não há avaliações
- Competencia Do Enf Na Urg e EmerDocumento8 páginasCompetencia Do Enf Na Urg e EmerRonaldo BritoAinda não há avaliações
- Quais Os Fatores Explicam o Crescimento Dos Acidentes de Trabalho Entre Os Profissionais de MedicinaDocumento2 páginasQuais Os Fatores Explicam o Crescimento Dos Acidentes de Trabalho Entre Os Profissionais de MedicinaFranciele PereiraAinda não há avaliações
- Erro Medico e Responsabilidade CivilDocumento96 páginasErro Medico e Responsabilidade CivilEllen “OceanC” OliveiraAinda não há avaliações
- Artigo - Saber Atenção Primaria EmergDocumento13 páginasArtigo - Saber Atenção Primaria EmergPatricia KoikyAinda não há avaliações
- 01 - Planejamento-E-Gerenciamento-De-Emergencias-Desastres-E-EpidemiaDocumento123 páginas01 - Planejamento-E-Gerenciamento-De-Emergencias-Desastres-E-EpidemiaRobson CordeiroAinda não há avaliações
- 5dfcf9ca70445 PDFDocumento41 páginas5dfcf9ca70445 PDFjanine paulaAinda não há avaliações
- NTRODUÇÃOdanielDocumento2 páginasNTRODUÇÃOdanielBráulio ChavesAinda não há avaliações
- Artigo EXPERIENCIANDO AS REFLEXÕES HUMANÍSTICAS DE JOYCE TRAVELBEE PDFDocumento8 páginasArtigo EXPERIENCIANDO AS REFLEXÕES HUMANÍSTICAS DE JOYCE TRAVELBEE PDFDiane SalesAinda não há avaliações
- Article 166113 1 10 20210216Documento12 páginasArticle 166113 1 10 20210216elalima00Ainda não há avaliações
- UFMTDocumento13 páginasUFMTEDUARDO ALVES DA SILVAAinda não há avaliações
- UnknownDocumento282 páginasUnknownLeo RamosAinda não há avaliações
- 18..enfermagem em UtiDocumento8 páginas18..enfermagem em UtiEnfa Viviane CamposAinda não há avaliações
- MONOGRAFIA FINAL 4 Com Paginas - CópiaDocumento62 páginasMONOGRAFIA FINAL 4 Com Paginas - CópiaCloe Dos SantosAinda não há avaliações
- Doenças Relacionadas Ao Ambiente de TrabalhoDocumento9 páginasDoenças Relacionadas Ao Ambiente de Trabalhonoé augusto moreira diasAinda não há avaliações
- Triagem Urgência e EmergênciaDocumento30 páginasTriagem Urgência e EmergênciaEliana OliveiraAinda não há avaliações
- Redação Ética MedicinalDocumento1 páginaRedação Ética MedicinalMaria Eduarda MartinsAinda não há avaliações
- Distanásia - Trabalho FinalDocumento21 páginasDistanásia - Trabalho FinalDiana SousaAinda não há avaliações
- Silva, JP. Problemas, Necessidades e Situação de SaúdeDocumento18 páginasSilva, JP. Problemas, Necessidades e Situação de Saúdechaiane notebookAinda não há avaliações
- Bioética - Noções Gerais Sobre A Prática de Ações Médicas Humanitárias e Noções Sobre Ética e Conceitos GeraisDocumento78 páginasBioética - Noções Gerais Sobre A Prática de Ações Médicas Humanitárias e Noções Sobre Ética e Conceitos GeraisJoão Victor MolinaAinda não há avaliações
- Fatores estressores em Unidade de Terapia Intensiva: na percepção de pacientes e familiaresNo EverandFatores estressores em Unidade de Terapia Intensiva: na percepção de pacientes e familiaresAinda não há avaliações
- Ética, Responsabilidade Civil E Penal Do MédicoNo EverandÉtica, Responsabilidade Civil E Penal Do MédicoAinda não há avaliações
- Violências e privação de liberdade: uma discussão em saúde coletivaNo EverandViolências e privação de liberdade: uma discussão em saúde coletivaAinda não há avaliações
- 35 - 40 Dias, Maldições em BençãosDocumento2 páginas35 - 40 Dias, Maldições em BençãosbombeiromaxAinda não há avaliações
- 26 - 40 Dias, Maldições em BençãosDocumento2 páginas26 - 40 Dias, Maldições em BençãosbombeiromaxAinda não há avaliações
- UntitledDocumento4 páginasUntitledbombeiromaxAinda não há avaliações
- 11 - 40 Dias, Maldições em BençãosDocumento2 páginas11 - 40 Dias, Maldições em BençãosbombeiromaxAinda não há avaliações
- 19 - 40 Dias, Maldições em BençãosDocumento2 páginas19 - 40 Dias, Maldições em BençãosbombeiromaxAinda não há avaliações
- 10 Bancos de Imagens GratuitosDocumento5 páginas10 Bancos de Imagens GratuitosbombeiromaxAinda não há avaliações
- 02 - 40 Dias, Maldições em BençãosDocumento2 páginas02 - 40 Dias, Maldições em BençãosbombeiromaxAinda não há avaliações
- 01 - 40 Dias, Maldições em BençãosDocumento2 páginas01 - 40 Dias, Maldições em BençãosbombeiromaxAinda não há avaliações
- Tcnico em Lazer Integrado - AvrDocumento160 páginasTcnico em Lazer Integrado - AvrbombeiromaxAinda não há avaliações
- Fases de Desenvolvimento Do Cão e Do GatoDocumento48 páginasFases de Desenvolvimento Do Cão e Do GatobombeiromaxAinda não há avaliações
- NV 002 JN 21 PM SP SoldadoDocumento15 páginasNV 002 JN 21 PM SP SoldadobombeiromaxAinda não há avaliações
- Prova CFS 2017Documento16 páginasProva CFS 2017bombeiromaxAinda não há avaliações
- Recomendacao - AFOGAMENTO COM PARADA RESPIRATORIA e PCR - 2013 PDFDocumento9 páginasRecomendacao - AFOGAMENTO COM PARADA RESPIRATORIA e PCR - 2013 PDFbombeiromaxAinda não há avaliações
- JDS G223Documento81 páginasJDS G223Vanete OsinskiAinda não há avaliações
- ACTIVIDADE 16 - Elaboração de Um "Diagnóstico Sectorial Do Mercado de Trabalho Moçambicano"Documento7 páginasACTIVIDADE 16 - Elaboração de Um "Diagnóstico Sectorial Do Mercado de Trabalho Moçambicano"Osvaldo Nhanombe HomoliberoAinda não há avaliações
- Unip Manual Aps 4 3 Semestres 2015 Adm AlunosDocumento11 páginasUnip Manual Aps 4 3 Semestres 2015 Adm AlunosNataliaLuganoAinda não há avaliações
- InsucessoDocumento76 páginasInsucessoMuvane CanzerAinda não há avaliações
- Tipos de Salários para Marras e Etapas para Implantação de Plano de Cargos e SaláriosDocumento11 páginasTipos de Salários para Marras e Etapas para Implantação de Plano de Cargos e SaláriosmscamachoAinda não há avaliações
- Bo 24-03-2023 30Documento42 páginasBo 24-03-2023 30César Santos Silva0% (1)
- LobosqueDocumento13 páginasLobosqueNilosiqueiraAinda não há avaliações
- Laudo de Avaliação AmbientalDocumento14 páginasLaudo de Avaliação Ambientalmarnia soaresAinda não há avaliações
- E-Talent Fulano de Tal PDFDocumento28 páginasE-Talent Fulano de Tal PDFSabrina BoeingAinda não há avaliações
- Capitulo 1, 2 e 3 - Auditoria InternaDocumento51 páginasCapitulo 1, 2 e 3 - Auditoria Internamartins albertoAinda não há avaliações
- Atividade 1 - Gts - Indicadores de Resultado No Terceiro Setor - 52 2023Documento8 páginasAtividade 1 - Gts - Indicadores de Resultado No Terceiro Setor - 52 2023trabsAinda não há avaliações
- Apostila PPCP LOGDocumento27 páginasApostila PPCP LOGThaina FerreiraAinda não há avaliações
- Manual Prontuario Eletrônico Do SUAS Acolhimento de Criança e AdolescenteDocumento62 páginasManual Prontuario Eletrônico Do SUAS Acolhimento de Criança e AdolescenteLuana OliveiraAinda não há avaliações
- Manual de Banco de SangueDocumento205 páginasManual de Banco de SangueEmílio Olímpio100% (1)
- Gestão de Processos de NegóciosDocumento37 páginasGestão de Processos de NegóciosLuiz Marcelo Carvalho de AzevedoAinda não há avaliações
- Relatório Final - Projeto de Extensão I - Gestão Comercial - Programa de Contexto À ComunidadeDocumento5 páginasRelatório Final - Projeto de Extensão I - Gestão Comercial - Programa de Contexto À ComunidadeAlex NascimentoAinda não há avaliações
- Exame Entrevista Prof. Vicente FalconiDocumento5 páginasExame Entrevista Prof. Vicente FalconibrunodealmeidaAinda não há avaliações
- Manual Basico de Acordos de Parceria Pd&iDocumento160 páginasManual Basico de Acordos de Parceria Pd&ijuliano_toniolo1958Ainda não há avaliações
- Gestão de Medias e Pequenas EmpresasDocumento85 páginasGestão de Medias e Pequenas EmpresasJose Oliveira OliveiraAinda não há avaliações
- Referencial para o RVCC - Competências Profissionais - RVCCDocumento17 páginasReferencial para o RVCC - Competências Profissionais - RVCCCarmen SantosAinda não há avaliações
- Administradores #0Documento36 páginasAdministradores #0Alexandre MagnoAinda não há avaliações
- Avaliação de Desempenho e Plano de CarreiraDocumento7 páginasAvaliação de Desempenho e Plano de CarreirafabianapdsAinda não há avaliações
- Decreto Execução 2014 PDFDocumento64 páginasDecreto Execução 2014 PDFNunoalmarAinda não há avaliações
- Pim LLL Gestao Comercial Universidade UnipDocumento22 páginasPim LLL Gestao Comercial Universidade UnipKalline RibeiroAinda não há avaliações
- Situacao Problema Gestao Estrategica RHDocumento2 páginasSituacao Problema Gestao Estrategica RHCamilla CrivelaroAinda não há avaliações