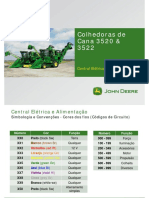Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Materialidade Do Gesto de Interpretacao e o Discurso Eletronico - EniOrlandi
A Materialidade Do Gesto de Interpretacao e o Discurso Eletronico - EniOrlandi
Enviado por
Ronaldo NezoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Materialidade Do Gesto de Interpretacao e o Discurso Eletronico - EniOrlandi
A Materialidade Do Gesto de Interpretacao e o Discurso Eletronico - EniOrlandi
Enviado por
Ronaldo NezoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A materialidade do gesto de interpretao e o discurso eletrnico
Eni Puccinelli Orlandi1
Introduo
O sentido no exato (ORLANDI, 2012a). Em consequncia, importa
acrescentar: a anlise de discurso no uma cincia exata. uma cincia da
interpretao. H vrios tipos de real, diz Michel Pcheux (1990). E o real com o qual
trabalhamos o real da interpretao. Que no se demonstra. Mostra-se. Topa-se com
ele: o impossvel de que no seja assim.
Esta afirmao nos leva tambm a outras reflexes. Por exemplo, a de que
trabalhamos nesta perspectiva, com a materialidade dos sentidos, e a dos gestos de
interpretao. Gestos estes que intervm no real dos sentidos, enquanto atos simblicos
com sua materialidade.
Procurarei tratar rapidamente de alguns destes aspectos, antes de falar mais
diretamente sobre o assunto que nos ocupa neste texto: a materialidade do gesto de
interpretao pensando o digital, o discurso eletrnico, o que nos coloca de imediato no
contato com o mundo da tecnologia. A materialidade do gesto de interpretao est por
historicidade, memria.
Podemos, ento, comear por algo familiar, pois, falar em disciplina de
interpretao significa dizer que, na anlise de discurso, mltiplas anlises de um
mesmo material prprio da construo do conhecimento (discursivo) e constitui o
debate intelectual, que faz o conhecimento se movimentar. Efeito do arquivo. Ao
contrrio das cincias positivistas, a diferena de resultados resulta do fato de que, se a
teoria e o mtodo, assim como o objeto da anlise de discurso, formam um corpo
estabelecido, tm suas constantes, no entanto, na construo do dispositivo analtico
(1989), a questo posta pelo pesquisador, a maneira como ele considera seu material,
construindo o objeto de sua anlise, seus objetivos e seu campo terico, onde se dar a
interpretao dos resultados de sua compreenso, podem trazer contribuies sempre
diferentes e extremamente frutferas para o conhecimento do objeto simblico em
questo e a observao dos processos de significao. A interpretao aberta e a
significao sempre incompleta em seus processos de apreenso. H ineditismo em cada
1
Professora na USP de 1967 a 1979, professora titular de 1979 a 2002 na UNICAMP, quando se
aposentou, atualmente professora colaboradora da UNICAMP, pesquisadora do Laboratrio de Estudos
Urbanos, da Unicamp e professora titular e coordenadora do curso de mestrado em Cincias da
Linguagem na UNIVS. Pesquisadora 1A do CNPQ, Tem extensa obra, artigos e livros, publicada no
Brasil e no exterior.
A materialidade do gesto de interpretao e o discurso eletrnico Eni Orlandi
anlise, e isto faz a riqueza da anlise de discurso, seu carter aberto e dinmico. O
objeto da anlise inesgotvel face possibilidade da compreenso dos processos
discursivos possveis. Com a anlise no se objetiva interpretar o objeto submetido a
ela, mas compreend-lo em seu modo de significar. Assim, a anlise no sobre um
objeto propriamente mas sobre o processo discursivo de que ele parte. Como a anlise
de discurso, como dissemos, no uma cincia exata uma cincia da interpretao, ela
no estaciona em uma interpretao, ela a interroga. Cabe ao analista, na elaborao de
sua anlise, e na explicitao de seus resultados, mostrar a eficcia de seus
procedimentos e a consistncia terica com que a conduziu. O ponto de partida de sua
anlise sua questo, sendo, esta, parte da sua investigao, de sua inteira
responsabilidade. O que no significa que a anlise no tenha sua necessidade e balize
teoricamente seu campo de validade. Mas seus resultados levam a muito mais do que
aquele objeto de que partiu em sua anlise, e pode, inclusive, produzir deslocamentos na
teoria.
Como temos afirmado, ao longo de nossas pesquisas, a questo da interpretao
trabalhada junto de ideologia, inseparvel dela, pois, no trabalho da
interpretao, que podemos apreciar os efeitos da ideologia funcionando (ORLANDI,
1996).
Neste texto, vamos aprofundar esta nossa reflexo. De um lado, na direo da
compreenso da constituio dos sujeitos e dos sentidos, e, de outro, na direo da
compreenso do que podemos entender por gesto de interpretao na diviso social do
trabalho da leitura, ou seja, na reorganizao social do trabalho intelectual e na leitura
de arquivo (PCHEUX, 1994), pensando a escritura digital. M. Pcheux fala do arquivo
entendido no sentido amplo de campo de documentos pertinentes e disponveis sobre
uma questo (PCHEUX, 1994, p. 57). Em meu trabalho, j elaborando a questo do
digital em relao questo da memria, estendo o que diz Pcheux sobre arquivo na
direo de explorar a noo de memria, e distingo a memria discursiva (interdiscurso,
constituda pelo esquecimento) a memria metlica (das mquinas) e a memria de
arquivo, sendo esta a memria institucional, a que no esquece e alimenta a iluso da
literalidade, acentuando a iluso de transparncia da linguagem, sustentada pelas
instituies, lugares por onde circula o discurso documental e que servem a sua
manuteno e estabilizao.
A materialidade do gesto de interpretao e o discurso eletrnico Eni Orlandi
Sobre a interpretao e a ideologia
No que toca a questo do sujeito e dos sentidos, parto de uma afirmao que
tenho elaborado:
A interpretao est presente em toda e qualquer manifestao da linguagem.
No h sentido sem interpretao. Mais interessante ainda pensar os
diferentes gestos de interpretao, uma vez que linguagens, ou as diferentes
formas de linguagem, com suas diferentes materialidades, significam de
modos distintos (ORLANDI, 1996, p.9).
Continuando, considero a questo da interpretao na relao com o que chamo
de abertura do simblico. Antes de tudo porque a questo do sentido uma questo
aberta (HENRY, 1993), uma questo filosfica que no se pode fechar
categoricamente. E acrescento:
Por outro lado, no h um sistema de signos s, mas muitos. Porque h
muitos modos de significar e a matria significante tem plasticidade, plural.
Como os sentidos no so indiferentes matria significante, a relao do
homem com os sentidos se exerce em diferentes materialidades, em
processos de significao diversos: pintura, imagem, msica, escultura,
escrita etc . A matria significante e/ou a sua percepo afeta o gesto de
interpretao, d uma forma a ele (ORLANDI, 1996, p.12).
Ressalto do dito acima que a matria significante (...) afeta o gesto de
interpretao, d uma forma a ele. Mais que isto, na medida em que tratamos com
matrias significantes diferentes, temos de mobilizar procedimentos diferentes2 de
anlise e de estabelecer, no vai-e-vem entre teoria e anlise, uma relao de
ressignificao de nossos instrumentos tericos. O que, certamente, afeta o batimento
entre descrio/interpretao.
O que est posto nestas reflexes a afirmao da materialidade dos gestos de
interpretao. Sua historicidade e sua constituio pela memria, saber discursivo. E,
tratando-se do digital, a relao com sua natureza, a que chamo metlica, a da mquina.
Alm disso, se pensarmos o digital como instrumento no no sentido
pragmtico, mas histrico discursivo meu objetivo compreender essa memria que
Em texto publicado em livro organizado por Anne Decrosse (ORLANDI, 1993), falando do silncio,
afirmo que (...) la matrialit signifiante du silence ne peut tre confondue avec celle du langage, ce qui
implique des instruments danalyse diffrents dans les deux cas. Minhas pesquisas sobre o silncio me
levaram a estabelecer novas relaes com a teoria do discurso, outras formas de proceder s anlises.
A materialidade do gesto de interpretao e o discurso eletrnico Eni Orlandi
ele est carregando na materialidade do gesto de interpretao que se atualiza nas
condies que se apresentarem. E aqui, ento, no falo da memria do discurso digital,
eletrnico, mas da memria que o constitui enquanto digital nas diferentes conjunturas
scio-histricas, ideolgicas.
Alm dessas formulaes, alguns textos de Pcheux Ler o arquivo hoje (1994),
Discurso: estrutura ou acontecimento (1991) e Reflexes para uma teoria geral da
ideologia (1995) foram fundamentais para que eu formulasse a questo da
interpretao ligada ideologia, e pensasse, na diviso social do trabalho da leitura, a
separao estanque entre o literrio e o cientfico.
Paralelamente, faz parte destas reflexes a considerao de que a constituio
dos sentidos, e dos sujeitos, tem na base a metfora. Como diz Pcheux (1975), a
metfora est na base da significao, e eu estendo: a metfora est na base da
constituio dos sujeitos. Os sentidos s existem nas relaes de metfora de que certa
formao discursiva vem a ser o lugar mais ou menos provisrio (PCHEUX, 1975). A
formao discursiva, lembremos, se constitui na relao com o interdiscurso,
representando no dizer as formaes ideolgicas. Assim, o lugar do sentido, e do
sujeito, lugar da metfora, funo da interpretao, espao da ideologia (ORLANDI,
1996). Considerando que sujeito e sentido se constituem ao mesmo tempo, ocupa-me o
fato de que, por outro lado, sujeitos e sentidos no coincidem em si, no coincidem
entre si (ORLANDI, 2012a). Metfora, inexatido, no transparncia, movimento, no
acabamento.
A partir do princpio discursivo do trabalho do poltico, levamos em conta o fato
de que o sentido sempre dividido, tendo uma direo que se especifica na histria,
pelo mecanismo ideolgico de sua constituio; h simbolizao das relaes de fora,
de poder, que se estabelecem na diviso prpria sociedade capitalista. Ligam-se a trs
noes: o poltico, o histrico (o Outro, a memria, o interdiscurso) e o ideolgico. A
sociedade no inerte (ORLANDI, 2012a) e a formao social constituda de relaes
que resultam, em ltima instncia, dos modos de individuao dos sujeitos pelo Estado,
relaes que so de natureza poltico-social, simbolizadas.
De seu lado, os sujeitos so sujeitos divididos em si e se dividem entre si. Ao
significar, o sujeito se significa e o gesto de interpretao o que, perceptvel, ou no,
para o sujeito e seus interlocutores, decide a direo dos sentidos, decidindo assim sobre
A materialidade do gesto de interpretao e o discurso eletrnico Eni Orlandi
sua prpria direo (identificao, posio-sujeito etc), ao inscrever-se em formaes
discursivas, reflexos das formaes ideolgicas.
A interpretao, a ideologia e a leitura de arquivo
Refiro, para iniciar esta parte de nosso estudo, o que diz Cristiane Dias:
A discursividade do eletrnico (...) um processo histrico e ideolgico de
significao da nossa sociedade contempornea, do modo como estamos
nela, como praticamos os espaos, do modo como somos interpelados em
sujeito pela ideologia, atravs das determinaes histrica. (DIAS, 2011,
p.58).
Retomando o que diz Cline Lafontaine (2004) sobre a amnsia histrica em
relao ciberntica, busca a clarificao histrica proposta pela autora:
Assistiramos a um retorno do recalcado de um modelo cientfico elaborado
ao final da Segunda Guerra mundial e do qual apenas comeamos a entender
as ramificaes? As filiaes que ligam a ciberntica aos domnios to vastos
da informtica, a automao, as cincias cognitivas, a prottica, a Inteligncia
artificial ou ainda biologia molecular e ao gnio gentico so, entretanto
notrios, ainda que um imenso trabalho de clarificao histrica esteja por
fazer (LAFONTAINE, 2004, p. 22-23).
Dias (2011) aproxima a ideia de amnsia histrica da do esquecimento n. 1,
proposto por Pcheux, e afirma que a iluso de ser a origem do sentido traz consigo os
sentidos de onipotncia, completude, omnipresena do discurso da tecnologia em que o
sujeito pode tudo, o corpo pode tudo e a cincia pode tudo. Sentidos determinados pelo
modo como a tecnologia se filia cincia de uma certa maneira, maneira da
ciberntica ou de um modelo especfico do final da guerra (DIAS, 2011), que procura
elucidar: o modelo da ideologia da sade mental. Mostrando que trabalho ideolgico o
da tecnologia como instncia cientfica que dar todas as solues, conclui pela
necessidade de mostrar-se que a tecnologia se constitui em um processo histrico, em
certas condies, que ela situa, como Lafontaine, no perodo da segunda guerra
mundial.
Tendo em conta estas consideraes e tomando a leitura de Pcheux (1994) e
Henry (1986), volto-me para as condies histricas que determinam os sentidos de
tecnologia na sociedade e na histria, e com ela as de eletrnico, com consequncias
para os sujeitos e os sentidos. Fao um recuo em relao ao tempo e vou alm do
7
A materialidade do gesto de interpretao e o discurso eletrnico Eni Orlandi
perodo da segunda guerra mundial, e no me atenho ao modelo da sade mental,
embora possa se incluir em nossas reflexes.
Tomo a questo da cincia pensando sua ideologia. E o que chama a ateno, no
nvel epistemolgico, o chamado paradigma calculatrio ou informtico (LVY,
1986, p. 279), e, neste, interessa-nos, sobretudo, um campo de questes: o do crebro e
do pensamento, e o do clculo e da mquina. Eis a linha mestra de nossa reflexo. Nela,
apresenta-se, em maiscula, a ideia do CLCULO. Trazendo a palavra-discurso
(ORLANDI, 2012b) IBM (mquina) a si articulada.
Tomamos, discursivamente, para nossa anlise, o que est em relao
parafrstica e com efeito metafrico: a relao Linguagem/Pensamento/Mundo
Crebro/ Mquina/ Sociedade.
A pergunta que desencadeia esta formulao, que coloco em realce, o ttulo
dado por P. Henry (1986), ao seu captulo do livro Intelligence des Mecanismes,
Mecanismes de lintelligence, mais especificamente: No se substitui o crebro por
uma mquina: um debate mal engajado. Nele, P. Henry cita J. Dieudonn que,
considerando uma questo de bom senso, critica, na realidade, com este enunciado No
se substitui o crebro por uma mquina, Hilbert, que, em 1900, no Congresso
Internacional de matemticas, com o desenvolvimento da informtica3 ou do que se
chama inteligncia artificial, buscava um algoritmo, que, dada uma equao diofantiana
qualquer, permitisse decidir se esta equao admite ou no solues. Para Dieudonn
era absurdo que Hilbert pudesse acreditar que uma mquina pudesse dar
automaticamente respostas aos problemas diofantianos. Da resulta seu enunciado, que
posto em estado de questo por Henry (1986). J que, para alguns, impossvel
construir mquinas capazes de igualar nosso crebros; enquanto, para outros, no h
provas cientficas que excluam a esperana de chegarmos a programas superiores at a
nossos grandes gnios humanos...(DREYFUS apud HENRY, 1986). Como se v, nestas
afirmaes, mquina e programa se substituem amplamente.
O que assistimos, na realidade, tomando a questo da relao, que formulo
acima, e de seu deslizamento metafrico, um debate que vem j desde os gregos e que
no para de produzir sentidos: a do pensamento, da mente. A da mquina e a da
Ler a respeito destas questes o texto O irreal da Lngua de Ronaldo Martins no livro Linguagem e
Tecnologia (Ronaldo Martins e Ana Cludia Fernandes (orgs), RG, 2012).
3
A materialidade do gesto de interpretao e o discurso eletrnico Eni Orlandi
linguagem perfeita. Debate que se apresenta em todas as letras desde que introduzimos a
denominao inteligncia artificial4.
Na
confluncia
de
instrumentos
tcnicos
(computadores),
intelectuais
(algoritmos, mquinas de Turing, formalismos diversos), e critrios de cientificidade
das prticas e teorias (programabilidade), diz P. Lvy (1986), emerge uma nova
linguagem para falar do real e um novo real surge. Eu diria: emerge uma nova
materialidade discursiva para falar da realidade e um novo real surge. Mesmo se me
questiono a propsito do surgimento deste novo real: seria mesmo um novo real ou s
mais um efeito de real? Um deslocamento na realidade (o que no pouco).
Mas indubitavelmente, a inteligncia artificial e as cincias da cognio so,
como afirma Lvy (1986), particularmente representativas do paradigma calculatrio. E
a informatizao do conhecimento paralela informatizao da sociedade. Para mim,
trata-se, certamente, a, da relao linguagem-sociedade: no se mexe em uma sem
mexer na outra. No so coincidentes mas, como tenho afirmado, se ligam fundamente:
sujeito-sentidos, linguagem-sociedade, corpo do sujeito-corpo social. Eis ligaes de
fundo que no podemos evitar. E que so postas em jogo desde que se fale em
inteligncia artificial. O que esta noo produz na relao dos sujeitos com eles
mesmos e entre si, na ideologia da cincia, e na sociedade como um todo?
Sobre as diferentes concepes de pensamento, podemos recuar at os gregos e
seguir muitos meandros de discusses fartamente produzidas ao longo dos sculos sobre
este tema; sobre a linguagem perfeita, a que no falha e que asseguraria as certezas do
clculo (aritmtico), podemos ir, por exemplo, ao sculo XVII e a Leibniz e aos
filsofos, lgicos e matemticos e, particularmente, a Frege (1882), com a proposta da
primeira linguagem formal. No esqueamos das vrias tentativas de matematizao,
mesmo bem atuais, das Cincias Humanas: eis um esforo de evitar o corpo das
palavras, suas ambiguidades, equvocos e contradies. Evitar a materialidade dos
gestos de interpretao, a historicidade que a se inscreve, e as teorias que sustentam as
disciplinas de interpretao. A busca do exato, no s na relao linguagem-
No deixa de ser interessante o comentrio, de T. Winograd e F. Flores (1986, p.150), de que a primeira
questo que devamos nos colocar por que pensamos que os computadores poderiam ser inteligentes?
Sem dvida, uma questo para o imaginrio que se constitui em torno da mquina e do pensamento.
Sobretudo do imaginrio social que circula a este respeito. E da posio da cincia, sem dvida.
A materialidade do gesto de interpretao e o discurso eletrnico Eni Orlandi
pensamento-mundo, mas tambm na do sujeito-sentido. E juntos vm o clculo, a
preciso. A mquina e/ou o programa5.
Lemos em Lvy (1986) algo que Henry (1986) trata com acuidade ao falar da
ressignificao dos instrumentos nas diferentes teorias, ou cincias. Citando o fsico
Wolfram (1984), afirma Lvy (1986): (...) e o tipo de conceitos e de objetos estudados
mudou em razo do instrumento utilizado, o computador. Em consequncia, um
procedimento torna-se tanto mais cientfico quanto for mais programvel.
Que o conhecimento vai de par com o clculo, fica mostrado; o que vem causar
problema a percepo, como diz o autor, pois o que no tem output no pode ser
tomado em considerao, no pode ser calculado. Ns no vivemos no meio de
composies qumicas nem de variao de presses atmosfricas mas de odores e de
jogo cambiante de luz
etc. A cognio, esvaziada da percepo se torna(ria) um
processo cego. E, sem sujeito, eu acrescentaria. A percepo, assim, segundo o que se l
em Lvy (1986),
tem o poder fabuloso de instituir um mundo, mas este mundo se furta ao
clculo e s operaes, pois ele de outra ordem. O universo, por seu lado,
operatrio e formalizvel, comunicvel e traduzvel, manipulvel e agentivo;
mas a reina um silncio de antes do silncio, uma cegueira de antes da luz, e
as linguagens que a desdobram imperturbavelmente suas sintaxes e seus
laos reguladores permanecem sem voz, em seu mutismo de antes do tempo.
(LVY, 1986, p. 293).
O prprio da tecnocincia, segue dizendo Lvy, e da relao ao ser que a
subentende, aumentar sempre mais o imprio do universal (operatrio) e isto ao preo
de uma mutao: a condio humana no mais a de viver no mundo mas de operar no
universo. Da o aumento da presena da mquina universal nos negcios humanos. E
da o desparecimento gradativo do mundo (objeto histrico) a favor do universo
(operacionalizao). O que leva Lvy a concluir que h uma mudana, com os avanos
da inteligncia artificial: a da sucesso dos mundos ao progresso do universal. O que,
para ele, j no uma mudana histrica mas uma mutao antropolgica.
Em meus trabalhos tenho proposto a categoria de universalismo-histrico
(ORLANDI, 2009) justamente para no fazer esta distino estrita e estanque entre o
universal (formal) e o histrico (o mundo). E isto s pode se fazer, a meu ver, do
Eu ousaria dizer que faz, para mim, agora, mais sentido falar em garota de programa (por prostituta no
caso de executivos), e tambm: fazer um programa (para sair), ou vou me programar (por me
preparar para) etc. Como se v, o que da cincia, e/ou da tcnica, passa logo para a vida comum, para a
rotina em sociedade. O que nos leva a dizer que, afinal, o senso comum, a que se prende Dieudonn, no
to estvel assim.
5
10
A materialidade do gesto de interpretao e o discurso eletrnico Eni Orlandi
interior do materialismo em que no se concebe a percepo sem exterioridade, nem se
pensa o universal sem a matria.
O que, a meu ver, vem junto a outra concepo do prprio pensamento e do
reconhecimento de uma ambiguidade com que jogamos quando, como diz Henry
(1986), avanamos que os desenvolvimentos cientficos e tcnicos ligados inteligncia
artificial e s neurocincias podem modificar as bases do debate epistemolgico e
filosfico. Esta mesma ambiguidade est, como afirma Henry (1986), em chamar, com
o nome de cincias da cognio, cincias do pensamento, ou o ato de conhecer.
Para enfrentar o problema, segundo o autor, preciso ir ao fundo das questes
(cientficas, epistemolgicas, filosficas, ticas) levantadas por esta conjuno entre, de
um lado, certa concepo de inteligncia artificial e certas extrapolaes feitas a partir
das neurocincias, do outro. A justamente entra a questo do materialismo. Porque,
segundo Henry,
no se trata de uma transformao de nossa relao intelectual ao mundo
fsico que nos rodeia, mas da transformao de nossa relao ao mundo do
pensamento, do conhecimento, do saber e da inteligncia, mundo que se
considerou muito tempo como exclusivamente humano. Encontrar-se-ia
enfim realizado um materialismo do pensamento destacado de qualquer
concesso. (HENRY, 1986, p. 299, grifo nosso).
Vemos a posta a questo das condies de produo (de outra concepo de
pensamento, de inteligncia artificial), dessa mudana (que, para Henry, diferentemente
de Lvy, no antropolgica), dessa transformao de nossa relao ao mundo do
pensamento. Resultando em outras formas de mudanas. O que, por exemplo, Pcheux
anuncia como constituio de um espao polmico das maneiras de ler, de
reorganizao da diviso social do trabalho da leitura (PCHEUX, 1994, p. 56, 57) e
que eu tomo aqui como reorganizao do trabalho da interpretao, pensando a
materialidade dos gestos de interpretao, sua historicidade. Sabemos que a relao
linguagem/pensamento/mundo no se faz termo a termo, e trabalhada pelos gestos de
interpretao e sua materialidade. Assim, a partir do materialismo do pensamento,
podemos igualmente pensar o da linguagem e o do mundo, em suas relaes, afetando,
portanto, o que estamos tratando como materialidade do gesto de interpretao.
Se, de um lado, segundo P. Henry, h argumentos que so utilizados para manter
um fio, passando por Plato, Hobbes e Leibniz para legitimar o projeto da inteligncia
artificial, apresentando-o como um dos sucessos que nos identifica, desde Plato, com o
11
A materialidade do gesto de interpretao e o discurso eletrnico Eni Orlandi
progresso da razo e da racionalidade, de sua realizao na cincia, na tcnica e na
filosofia, de outro lado, h aqueles, como Pascal ou Nietzsche, que o atacaram, no para
preservar o obscurantismo, mas para fazer prevalecer outra concepo da razo, do
homem e daquilo que o anima. H tambm outros estudiosos, que podem ser referidos,
como Heidegger e Wittgenstein, que tambm so crticos a certa crtica da inteligncia
artificial, cujos mitos s fazem reforar certa verso da histria do pensamento e da
filosofia, de seu progresso, e de que a inteligncia artificial, ela prpria, como
pensada, pode, afinal, se apresentar como um seu resultado.
Creio que, alm dessa crtica a esta concepo de razo, de pensamento e de
nossa relao ao pensamento, que leva a certa concepo de inteligncia artificial, h
algo ainda mais relevante para nossos fins nesta discusso da materialidade do gesto de
interpretao do discurso digital, pensando suas condies e a memria discursiva que a
constitui. Trata-se da questo da individualidade do pensamento que traz junto noes
como operacionalismo, behaviorismo, psicologismo, etc., caudatrias da pragmtica. O
postulado das cincias cognitivas para esta questo da inteligncia que o pensamento
s pode se situar em uma coisa, na unidade de uma interioridade, uma substncia
individualizada cujas propriedades explicariam sua possibilidade e natureza.
Behaviorismo, empirismo (Quine). Henry (1986, p.323) nos mostra que, dessa
perspectiva, a questo que se coloca, : o que devemos supor que se passa no crebro
quando cumprimos esta ou aquela performance?; ou ainda: que mquina e que
programa preciso para simular esta ou aquela performance?. Este empirismo bsico
para as cincias cognitivas. Mas no na unidade, na individualidade localizada que se
encontram as melhores perguntas e as reflexes mais agudas sobre o pensamento, ou
sobre o crebro. preciso um recuo.
Poderamos resumir de forma muito rpida isto tudo afirmando: falar melhor
que pensar. Porque, como diz P. Henry (1986, p.304) ns nos vivemos seres pensantes
antes de vivermos seres falantes. Por isso, to difcil aceitar mquinas pensantes.
Estamos to habituados a ligar tudo que toca o pensamento ao que toca nosso ser e, em
definitivo, nossa posio de sujeitos, que bem difcil fazer um recuo em relao a isto.
Para nossos fins, restritos neste texto, estas consideraes acerca das
caractersticas da conjuntura histrico-cientfica em torno da questo da relao
linguagem-pensamento-mundo e crebro-mquina-sociedade so suficientes para
falarmos do que nos importa de mais perto. Sem esquecer que iniciamos pela questo
12
A materialidade do gesto de interpretao e o discurso eletrnico Eni Orlandi
posta no ttulo de Henry, No se substitui um crebro por uma mquina, que a toma
como parte de um debate mal engajado, j que ela se assenta sobre a ambiguidade do
que toma como pensamento, sem buscar aprofundar nas questes que a subentendem.
Entre elas a do materialismo do pensamento. Como, do mesmo modo, quando as
mquinas no fazem o que o homem faz, procura-se o que falta como estando
localizado no crebro. O que falta poderia estar em outro lugar6.
O sculo XIX e suas condies de produo: a IBM
Finalmente, ainda pensando as condies histricas mais amplas e a ideologia do
discurso eletrnico, chegamos ao sculo XIX e s especificidades que lhe do forma e
sentidos.
ainda em M. Pcheux que buscamos o fio condutor de nossa reflexo:
A lgica das classificaes autoriza o desvio da atividade matemtica pela
gesto administrativa, ou seja, pelo funcionamento das mquinas cuja
memria constituda exclusivamente de lembranas, listas e quadros 7: a
palavra IBM est a para nos lembrar que a informtica tem,
espontaneamente, parte ligada burocracia administrativa (PCHEUX,
1994, p.58/59).
O que no impede que se possam fazer pesquisas cientficas, mas em certas
condies. Toda a questo est posta neste certas. Ainda segundo Pcheux (1994), no
sculo XX, as necessidades da gesto administrativa dos documentos textuais de todos
os tipos fizeram sua juno histrica com projetos cientficos visando a construo de
lnguas lgicas artificiais (herana de Leibniz e do Crculo de Viena); o que est
atestado no desenvolvimento informtico dos anos de 1950 a 1970. Mas voltemos nossa
ateno para a IBM e o sculo XIX.
A IBM a sigla de Mquina de Negcios Internacionais (International Business
Machine), uma empresa americana de informtica. Que tem seus incios no sculo XIX.
E cujos princpios, enunciados por T. Watson Jr (comeo do sculo XX), so bem
Pensando os sentidos como relao a, no estaria a uma questo para a materialidade dos gestos de
interpretao, por exemplo, pensando a linguagem em sua materialidade?
Talvez eu possa reconhecer j aqui elementos subjacentes para o que chamei de memria metlica (E.
Orlandi, 1996), a do computador. Distinta da memria discursiva, nesta, o que funcionam, so
lembranas, listas, quadros, que so caras ao cognitivismo e ao operacionalismo.
7
13
A materialidade do gesto de interpretao e o discurso eletrnico Eni Orlandi
diretos, do ponto de vista empresarial (organizao do trabalho)8: 1. Respeito ao cliente;
2. Prestar o melhor servio ao cliente; 3. Busca de excelncia.
O que objetivamos nesta parte de nossa reflexo mostrar que, no conjunto
cincias exatas/tecnologia/administrao o modo de constituio do conhecimento
que sustenta o projeto e o discurso digital ligado, em sua historicidade, de maneira
forte ao administrativo, mais propriamente, contabilidade e ao sistema industrial.
Como diz Pcheux (1994, p. 32), a homogeneidade lgica, com suas proposies,
atravessada por uma srie de equvocos9, assim como os termos como lei, rigor, ordem,
princpio etc., que cobrem ao mesmo tempo, como um patchwork, os trs elementos do
conjunto (cincias exatas/tecnologia/administrao). Eles so inseparveis, mas o que
procuro indicar aqui que eles se organizam, a cada vez, por um dos pontos de entrada
e recobrem a realidade. A entrada, no caso da informtica, j no fim do sculo XIX e o
incio do XX, o administrativo, que organiza os dois outros. No administrativo, claro,
est o controle e tudo o mais, da ideologia capitalista mundializada fazendo seus efeitos
na sociedade contempornea.
O impulso dado, no sculo XIX, para o desenvolvimento da mecanizao da
informao foi a coleta e organizao de dados (demografia) para o censo de 1890 nos
Estados Unidos. E a soluo foi idealizada por Herman Hollerith, um estatstico:
mquinas eltricas em que os dados eram representados por perfuraes distribudas em
fita de papel. Estabeleciam-se circuitos eltricos atravs das perfuraes e os dados
eram assim computados de forma rpida e automtica: eletricidade e automao, eis o
incio da mquina inteligente. Isso acelerou (rapidez tambm componente) o processo
da contagem da informao, do censo (feito em trs anos). Em 1896, Herman criou uma
companhia: a Tabulating Machine Company (TMC) e, introduzindo inovaes, trocou a
fita por cartes perfurados. Os cartes se tornaram o elemento bsico das mquinas
IBM de processamento de dados10. Duas outras empresas, em 1911, uniram-se TMC,
por sugesto do banqueiro Flint. Eram elas: International Time Recording (registradores
No podemos deixar de dizer aqui que o investimento na organizao do trabalho afeta a ordem do
trabalho, qual seja, a sua significao com efeitos nas relaes sociais.
9
Lembremos como P. Henry chama a ateno para a ambiguidade que subentendem concepes como a
de pensamento, crebro etc.
10
Eis um elemento interessante para se falar da materialidade do gesto de interpretao: ao mudar a fita
de papel para cartes perfurados, mudam-se as condies de produo da materialidade dos gestos de
interpretao da mquina, e, consequentemente, sua forma e suas possibilidades .
8
14
A materialidade do gesto de interpretao e o discurso eletrnico Eni Orlandi
mecnicos de tempo) e a Computing Scale Co (instrumentos de aferio de peso),
resultando na Computing Tabulating Recording Co (CTR). Estava criada a base.
J em 1914, T. J. Watson assumiu a direo geral e estabeleceu normas de
trabalho (citadas acima) que estruturam a empresa de forma inovadora.
As pesquisas em engenharia resultaram na criao e aperfeioamento de novas
mquinas de contabilidade exigidas pelo clere desenvolvimento industrial. Com o
aumento do nmero de pessoas do grupo e seu acmulo de experincia, os produtos
ganharam em qualidade e surgiram novas mquinas. A CTR muda de nome e passa a
ser chamada de IBM (International Business Machines), lder do processo tecnolgico.
Que passa a ser chamada pelos americanos de Big Blue.
Interessante observar que a especialidade de Watson no era a tecnologia mas as
vendas e o marketing, que trouxe o mantra Think (Pense) qual o sentido de pensar
a? - para a ideologia empresarial bem sucedida: para o comrcio (e a indstria, em
retorno). Criou um exrcito (sic)11 de vendedores (vestidos de azul e branco) para
convencer executivos de vrias indstrias a adotarem sistemas de contabilidade
mecnicos.
Como vemos, o input dado por interesses comerciais e industriais, e a cincia,
a engenharia (tecnologia cientfica), vem a reboque. E a palavra Pense (alguma
relao com toda a questo sobre o pensamento que desenvolvemos na parte que
precede esta?) torna-se um mantra de marketing a servio da venda das mquinas de
contabilidade.
No sem interesse retomarmos (do blog citado) o que dizem a respeito de
Watson, da IBM, e seus credos organizacionais.
Caractersticas da IBM:
A cultura da IBM fundamentada em trs credos bsicos criados por Thomas
Watson, o fundador. Eles esto presentes em toda a organizao em placas
estrategicamente dispostas em todas as salas, em muitas publicaes internas e sempre
se faz referncia aos mesmos para embasar a maioria das decises e atividades
organizacionais, uma vez que eles constituem a prpria identidade da empresa. O
primeiro credo, Respeito ao Indivduo, oficialmente norteia a poltica de recursos
humanos da organizao. A empresa possui mecanismos de comunicao interna que se
11
Blog: Mundo das Marcas. Cf. HTTP:www.strategia.com.br/Casos/
15
A materialidade do gesto de interpretao e o discurso eletrnico Eni Orlandi
fundamentam no mesmo.Um destes mecanismos, denominado de Poltica de Portas
Abertas, permite ao funcionrio que se sente injustiado por seus superiores imediatos
levar suas questes diretamente a gerncia superior, que as apreciar novamente de uma
forma imparcial. A esta poltica interna, os funcionrios chamam de escalar. O
Programa Fale Francamente ou Seak Up permite ao funcionrio que tem uma queixa
ou uma dvida a solucionar relata-la de forma annima, tendo suas questes
respondidas pelas autoridades administrativas encarregadas. A empresa possui assim
uma justia interna para resoluo de conflitos, os quais absorve a fim de manter o
sistema coeso. O segundo credo da empresa, Prestar o Melhor Servio ao Cliente,
e, o terceiro, a Busca da Excelncia, ou seja, a busca de uma forma superior de
realizar o trabalho, fundamenta a gesto estratgica da qualidade a ser realizada atravs
da implementao do Market Driven Quality, sua poltica de Qualidade.Os credos IBM
so constitutivos de sua identidade e no mudaram desde sua criao, estando
assimilados profundamente na organizao. Sendo genricos, podem ser constantemente
interpretados para fundamentarem as novas polticas de gesto adotadas pela empresa,
em uma nova criao de significados que coaduna com o novo paradigma a ser adotado.
So plenamente compatveis com as propostas de implementao do Market Driven
Quality, ou seja, a implementao da gerncia de qualidade anteriormente definida,
tendo como base no s a satisfao dos desejos do cliente, mas seu encantamento
atravs da criao de produtos que contribuam para o seu sucesso. A gesto de recursos
humanos participativa justificada pelo credo Respeito ao Indivduo. A criao da
Nova IBM assim legitimada pelos mesmos princpios que mantinham o antigo
modelo organizacional proposto, princpios estes, no entanto, reinterpretados na criao
de um novo paradigma, que pretende ser uma resposta organizacional s dificuldades do
ambiente, para fugir morte, reproduzindo as palavras dos prprios estrategistas
internos, em uma viso sistmica. A Nova IBM, na realidade, uma evoluo de um
modelo de organizao mecanicista para um orgnico, na terminologia de Burns e
Stalker.
O que assistimos aqui , pela anlise deste discurso, o deslizamento, pelo efeito
metafrico, da reorganizao da diviso social da leitura posta por M. Pcheux, em
seu Ler o Arquivo Hoje(1994), pensado como uma mexida nas relaes do sujeito
com os sentidos, deslizamento, pois, para a reorganizao do trabalho na empresa,
16
A materialidade do gesto de interpretao e o discurso eletrnico Eni Orlandi
relao de foras do mercado na indstria capitalista. O mecanicismo e o orgnico, que
aparecem no texto acima, no so opes de sistemas de pensamento mas de um
programa, um modelo de organizao empresarial. Cruamente.
Desse modo, e caminhando para nossa concluso, nesse vai-e-vem dos
tericos, dos cientistas, dos filsofos da cincia, e dos que se ocupam da organizao do
trabalho e do controle social diretamente, que os sentidos circulam na materialidade dos
gestos de interpretao, quando entramos no discurso eletrnico e na sua memria
(discursiva)12. Sem parada. Sem sursis. Em um processo de significao que se
movimenta o tempo todo em todos os lugares. Produzindo seus efeitos, sejam quais
forem. E desse modo que afetam os sujeitos aqui ou ali, por estas ou aquelas
condies, nos gestos que se constituem no entremeio do real da lngua e da histria.
Materialidade da interpretao.
E termino dando a palavra IBM e seus logotipos (fonte: Wikipdia), que ela
mesma descreve. Nada mais prprio para expor o funcionamento da ideologia do
discurso eletrnico:
Logotipos
O logotipo que foi usado entre 1924-1946. O logotipo est em um formato para
sugerir um globo, cercado pela palavra "Internacional".
O logotipo que foi usado entre 1947-1956. O "globo" foi substitudo
simplesmente pelas letras "IBM".
12
A memria discursiva (E. Orlandi, 2012) que j vem significada: a ideologia, como temos dito, pela
qual somos sempre j ditos por um saber que fala por conta prpria (memria).
17
A materialidade do gesto de interpretao e o discurso eletrnico Eni Orlandi
O logotipo que foi usado entre 1956-1972. A IBM disse que as letras assumiram
uma aparncia mais slida e balanceada.
O logotipo listrado foi usado pela primeira vez em 1967 e substituiu o logotipo
de aparncia mais slida em 1972. As listras horizontais, sugerem "velocidade e
dinamismo".
No farei uma anlise mais apurada, apenas observaes analticas. Do primeiro
para o segundo logotipo, incio da industrializao, as letras parecem ser forjadas em
ferro, a palavra internacional que apagada, silenciada. Nada mais prprio, j que
depois da segunda guerra mundial, a mundializao no tinha um sentido muito
atraente e no convocava o sentido de mercado como hoje. Do segundo para o
terceiro a forma da letra que muda: letras que trazem nelas a marca mesma do sucesso
da industrializao. A forma das letras, mais limpa, evoca o industrial, empresarial,
clara e diretamente. J o quarto logotipo traz os sentidos da conjuntura do terceiro
perodo do sculo XX, anunciando o movimento em torno das tecnologias:
transparncia, agilidade, leveza, dinamismo, velocidade. O tempo da urgncia, da
omnipresena. E da lngua de vento, a da propaganda.
Se retornarmos relao linguagem-pensamento-mundocrebro-mquinasociedade, podemos pensar a relao linguagem-sociedade que deriva para empresaadministrao declinada pelo mercado e trabalho.
Mas uma palavra se mantm em todas essas conjugaes: a palavra clculo em
todos seus equvocos que se materializam na palavra-discurso IBM.
Mquina eltrica de clculo, sistema eletrnico de calcular. O que? Produtos,
dados: gente, trabalho, mercado. O clculo produo de visibilidade naquilo que no
tem interioridade indiscernvel, no que no opaco, aquilo que sem sujeito. Mas,
conclumos, a mquina no um substituto, um outro mesmo, um Um. H sempre
resto, um no Um, um incompleto, um no l, porque pensamento, sujeito e sentido tm
materialidade. No so transparentes, nem exatos. Assim como o gesto de interpretao,
que no Um, em sua materialidade.
Referncias
18
A materialidade do gesto de interpretao e o discurso eletrnico Eni Orlandi
DIAS, Cristiane P. Espao, tecnologia e informao: uma leitura da cidade. In:
RODRIGUES, Eduardo. A.; SANTOS, Gabriel. L. dos.; BRANCO, Luiza. K. C.
(Orgs.). Anlise de discurso no Brasil: pensando o impensado sempre: uma
homenagem a Eni Orlandi. Campinas: RG, 2011a. p. 259-272.
______. Cidade, cultura e corpo: a velocidade do mundo. Escritos. Campinas:
Labeurb/Nudecri/Unicamp, n.10, 2011b.
______. O discurso da inovao no processo de significao de mudana na
sociedade da informao. In: ZATTAR, N.; DALLA PRIA, A.; MORALIS, E. G.
(Orgs.). Linguagem, acontecimento, discurso. Campinas: RG, 2011c. p.45-60.
DECROSSE, Anne. (org) Lesprit de Socit. Mardaga: 1993. Lige: Silence, sujet,
histoire. p. 223/237.
HENRY, Paul. On ne remplace pas le cerveau par une machine: um dbat mal engag,
in Intelligence des mcanismes, mcanismes de lintelligence. Paris: Fayard, 1986.
LAFONTAINE, Cline. Lempire cyberntique: des machines penser la pense
machine. Paris: ditions du Seuil, 2004.
LVY, Pierre. Lunivers du calcul calculer, percevoir, penser, in. Intelligence des
mcanismes, mcanismes de lintelligence. Paris: Fayard, 1986.
ORLANDI, Eni P. Lngua Brasileira e outras histrias. Campinas: RG, 2009.
______________Sentidos em fuga: efeitos da polissemia e do silncio in Sujeito,
Sociedade, Sentidos. Guilherme Carroza. Mirian dos Santos e Telma Domingues da
Silva (orgs), Campinas: RG, 2012a.
______________
Ktia Flvia: a palavra dana e o mundo roda: Polcia!, Labeurb
20anos, evento, 2012b. Texto no prelo.
PECHEUX, Michel. Ler o Arquivo Hoje. In. ORLANDI, E. (org.) Gestos de Leitura.
Campinas: Unicamp, 1994.
WINOGRAD, Terry e FLORES, Fernando. Lintelligence artificelle em question.
Paris: PUF, 1986.
WOLFRAM, Stephen. Les logiciels scientifiques. Pour la Science, n 85, p. 144-161,
Paris, 1984.
19
Para citar essa obra:
ORLANDI, Eni Puccinelli. A materialidade do gesto de interpretao e o discurso
eletrnico. In. DIAS, Cristiane. Formas de mobilidade no espao e-urbano: sentido e
materialidade digital [online]. Srie e-urbano. Vol. 2, 2013, Consultada no Portal
Labeurb http://www.labeurb.unicamp.br/livroEurbano/ Laboratrio de Estudos
Urbanos LABEURB/Ncleo de Desenvolvimento da Criatividade NUDECRI,
Universidade Estadual de Campinas UNICAMP.
Endereo:
LABEURB - LABORATRIO DE ESTUDOS URBANOS
UNICAMP/COCEN / NUDECRI
CAIXA POSTAL 6166
Campinas/SP - Brasil
CEP 13083-892
Fone/ Fax: (19) 3521-7900
www.labeurb.unicamp.br/contato
Você também pode gostar
- 02 - Central Elétrica-1 PDFDocumento13 páginas02 - Central Elétrica-1 PDFAlex Rosa100% (2)
- Arquivo Anexo 54688Documento91 páginasArquivo Anexo 54688Letícia InácioAinda não há avaliações
- Lista de Verbos para Objetivos PDFDocumento2 páginasLista de Verbos para Objetivos PDFHelio Omura100% (1)
- Apostila Sobre o Jogo Do Bicho PDFDocumento90 páginasApostila Sobre o Jogo Do Bicho PDFLeonardo Sena0% (2)
- Bibliologia-Suficiencia Das Escrituras-Aula1 - Slides PDFDocumento44 páginasBibliologia-Suficiencia Das Escrituras-Aula1 - Slides PDFrevsilvio100% (1)
- 2700 KcalDocumento4 páginas2700 KcalRibamar SoaresAinda não há avaliações
- Simulado PMMG Enfermeiro e Tecnico em Enfermagem (Simulado)Documento50 páginasSimulado PMMG Enfermeiro e Tecnico em Enfermagem (Simulado)Pedro H. IzzoAinda não há avaliações
- O Cargo de Orador No Rito BrasileiroDocumento4 páginasO Cargo de Orador No Rito BrasileiroLinneker Belinni100% (1)
- A prioridade relativa da linguagem sobre o pensamento: um estudo sobre um método recentemente abandonado em filosofia analíticaNo EverandA prioridade relativa da linguagem sobre o pensamento: um estudo sobre um método recentemente abandonado em filosofia analíticaAinda não há avaliações
- A MetáforaDocumento21 páginasA MetáforaTamara HarrisAinda não há avaliações
- O Quadro Atual Da Análise de Discurso No BrasilDocumento8 páginasO Quadro Atual Da Análise de Discurso No BrasilluladecastroAinda não há avaliações
- A História Do CandombléDocumento4 páginasA História Do CandomblébvaladaresAinda não há avaliações
- Artigo Orlandi DiscursoDocumento7 páginasArtigo Orlandi Discursocibele dal corsoAinda não há avaliações
- Ficha Alternativa D&D 5E - PT-BR (Editável)Documento3 páginasFicha Alternativa D&D 5E - PT-BR (Editável)arthur seabraAinda não há avaliações
- 41A Revolucao Tecnologica Da GramatizacaoDocumento5 páginas41A Revolucao Tecnologica Da GramatizacaoJildonei LazzarettiAinda não há avaliações
- Teoria Do Texto LiterárioDocumento116 páginasTeoria Do Texto LiterárioAna Beatriz VianaAinda não há avaliações
- Analise Do Discurso OrlandiDocumento8 páginasAnalise Do Discurso OrlandiSabrina Ferreira NunesAinda não há avaliações
- Resenha FL AurouxDocumento5 páginasResenha FL Aurouxbonod0100% (1)
- AUTHIER-REVUZ, Jecqueline - A Representação Do Discurso Outro - Um Campo Multiplamente HeterogêneoDocumento13 páginasAUTHIER-REVUZ, Jecqueline - A Representação Do Discurso Outro - Um Campo Multiplamente HeterogêneoGiuliano Lellis Ito SantosAinda não há avaliações
- Signo Repr&Repr MentalDocumento26 páginasSigno Repr&Repr MentalLuis Henrique Gonçalves100% (1)
- Gerard Vigner - Intertextualidade Norma e LegibilidadeDocumento6 páginasGerard Vigner - Intertextualidade Norma e LegibilidadeLeonardo VivaldoAinda não há avaliações
- GT9 - 19 - Parodia e o Texto - MaryDocumento15 páginasGT9 - 19 - Parodia e o Texto - MarySueli Gomes da SilvaAinda não há avaliações
- Trabalho e Produção Do Cuidado em Saúde - Túlio e MerhyDocumento307 páginasTrabalho e Produção Do Cuidado em Saúde - Túlio e MerhyMarcello Accetta100% (1)
- Praticas Discursivas FurlametoDocumento17 páginasPraticas Discursivas FurlametoNeideSantosAinda não há avaliações
- Putnam O Significado de SignificadoDocumento47 páginasPutnam O Significado de SignificadoSimone StierAinda não há avaliações
- Citações Do Livro: Galaxia Da Internet (Cap1) - Manuel CastellsDocumento14 páginasCitações Do Livro: Galaxia Da Internet (Cap1) - Manuel CastellsTiago R. da Silva100% (1)
- A Língua e o Outro Giros Da Linguagem Na Obra de Jean François LyotardDocumento161 páginasA Língua e o Outro Giros Da Linguagem Na Obra de Jean François LyotardLuiza VasconcellosAinda não há avaliações
- A Metáfora em PaulDocumento10 páginasA Metáfora em PaulWilliam VieiraAinda não há avaliações
- A Genese Da ADfDocumento37 páginasA Genese Da ADfThiagoAinda não há avaliações
- ManualTcnicoSprint2019PT5409227R04 20210128Documento86 páginasManualTcnicoSprint2019PT5409227R04 20210128haftaz100% (1)
- ORLANDI - Paráfrase PolissemiaDocumento11 páginasORLANDI - Paráfrase Polissemiartoscanos2254Ainda não há avaliações
- 29.12.21 LinC Cognition Complexity Context T GivonDocumento153 páginas29.12.21 LinC Cognition Complexity Context T GivonTheresa100% (1)
- Patrice Maniglier - Uma Breve Exposição Da História e Do Funcionamento Do Método EstruturalDocumento7 páginasPatrice Maniglier - Uma Breve Exposição Da História e Do Funcionamento Do Método EstruturalFernando MorariAinda não há avaliações
- Kövecses - Metaphor Language and Culture - 2010Documento19 páginasKövecses - Metaphor Language and Culture - 2010Kassio SmavitchAinda não há avaliações
- A Formação Do Projeto Teórico de Michel Pêcheux - Claudiana - Narzetti - CostaDocumento191 páginasA Formação Do Projeto Teórico de Michel Pêcheux - Claudiana - Narzetti - CostaEduardoAinda não há avaliações
- Direitos e Deveres Dos AlunosDocumento10 páginasDireitos e Deveres Dos Alunosfs96Ainda não há avaliações
- As Novas Vias Da Ontologia em György Lukács - As Bases Ontológicas Do Conhecimento - Ronaldo FortesDocumento276 páginasAs Novas Vias Da Ontologia em György Lukács - As Bases Ontológicas Do Conhecimento - Ronaldo FortesSIMONE VALENTINI100% (1)
- Monolinguismo Derrida PDFDocumento12 páginasMonolinguismo Derrida PDFPaula CamposAinda não há avaliações
- SOUZA, L. A Crítica de Adorno Ao Realismo de Lukacs (Art.) PDFDocumento11 páginasSOUZA, L. A Crítica de Adorno Ao Realismo de Lukacs (Art.) PDFMarechá PanapanáAinda não há avaliações
- Glauco MatosoDocumento13 páginasGlauco MatosoMarcela B. TavaresAinda não há avaliações
- A Propósito Da Análise Automática Do Discurso Atualização e PerspectivasDocumento7 páginasA Propósito Da Análise Automática Do Discurso Atualização e PerspectivasEdimar SartoroAinda não há avaliações
- A Semantica e o Corte Saussuriano Língua Linguagem e Discurso Haroche Pecheux e PaulDocumento16 páginasA Semantica e o Corte Saussuriano Língua Linguagem e Discurso Haroche Pecheux e PaulJoelBombardelliAinda não há avaliações
- Saussure-Introdução À Leitura deDocumento4 páginasSaussure-Introdução À Leitura dePaulo FinkelAinda não há avaliações
- RABATEL - EntrevistaDocumento19 páginasRABATEL - EntrevistaKatia PerezAinda não há avaliações
- AUTHIER-REVUZ. Dizer Ao Outro No Já-Dito - CópiaDocumento15 páginasAUTHIER-REVUZ. Dizer Ao Outro No Já-Dito - CópiaEduardo PinheiroAinda não há avaliações
- TORRESAN. A Manipulação Do Discruso Religioso. P. 95-105 PDFDocumento12 páginasTORRESAN. A Manipulação Do Discruso Religioso. P. 95-105 PDFRobert CaetanoAinda não há avaliações
- Derrida, Celan, Traducao - 8245-26683-1-PB PDFDocumento36 páginasDerrida, Celan, Traducao - 8245-26683-1-PB PDFVeronica DellacroceAinda não há avaliações
- Semiotica e Ciencias Sociais - GENEROS - GREIMASDocumento3 páginasSemiotica e Ciencias Sociais - GENEROS - GREIMASCintia Alves da SilvaAinda não há avaliações
- Resumo Livro Analise de Discurso de Ene OrlandiDocumento2 páginasResumo Livro Analise de Discurso de Ene OrlandiFlávia Armond100% (1)
- Mestrado Investigação TuteladaDocumento102 páginasMestrado Investigação TuteladaEmanuelle TrindadeAinda não há avaliações
- Introducao A Linguistica Vol 3 FundamentDocumento11 páginasIntroducao A Linguistica Vol 3 FundamentIngrid Knuivers Franco100% (1)
- (ARTIGO) TEIXEIRA, Lucia. A Pesquisa em SemióticaDocumento19 páginas(ARTIGO) TEIXEIRA, Lucia. A Pesquisa em SemióticaAnaAinda não há avaliações
- Daniel Omar Perez A Semântica Transcendental de KantDocumento2 páginasDaniel Omar Perez A Semântica Transcendental de KantDaniel Omar PerezAinda não há avaliações
- A Bicicleta de Lévi-Strauss (Patrice Maniglier)Documento9 páginasA Bicicleta de Lévi-Strauss (Patrice Maniglier)Thiago PereiraAinda não há avaliações
- BEZERRA, Maria Auxiliadora. Ensino Da Língua Portuguesa e Contextos Teórico-MetodológicosDocumento3 páginasBEZERRA, Maria Auxiliadora. Ensino Da Língua Portuguesa e Contextos Teórico-MetodológicosJanna SantosAinda não há avaliações
- MORENO, Arley - Wittgenstein - Os Labirintos Da Linguagem - Parte 1Documento23 páginasMORENO, Arley - Wittgenstein - Os Labirintos Da Linguagem - Parte 1Professora Alik AraújoAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido BenvenisteDocumento2 páginasEstudo Dirigido BenvenisteFabiula FariasAinda não há avaliações
- Dowz e SchewnelyDocumento12 páginasDowz e SchewnelyAluizio Lima FrançaAinda não há avaliações
- As Frases Sem TextoDocumento4 páginasAs Frases Sem TextoAndre WilliamAinda não há avaliações
- 1999 - Morfologia Sintaxe e Semântica Na Interpretação - Não Publicado PDFDocumento17 páginas1999 - Morfologia Sintaxe e Semântica Na Interpretação - Não Publicado PDFGuilhermeHendersonAinda não há avaliações
- Oralidade e Cultura Escrita A Tecnologização Da PalavraDocumento3 páginasOralidade e Cultura Escrita A Tecnologização Da Palavra'Gustavo RaftAinda não há avaliações
- Nos Caminhos Da Figuratividade PDFDocumento18 páginasNos Caminhos Da Figuratividade PDFAnonymous VCHOnKAinda não há avaliações
- Antropologia e Literatura, Luís QuintaisDocumento2 páginasAntropologia e Literatura, Luís QuintaisGabrielle CavalcanteAinda não há avaliações
- Descola A Ontologia Dos OutrosDocumento26 páginasDescola A Ontologia Dos OutrosricherAinda não há avaliações
- Slides: Semiologia Da Língua (Benveniste)Documento16 páginasSlides: Semiologia Da Língua (Benveniste)Lia MartinsAinda não há avaliações
- O Estruturalismo e o Ensino de Línguas PDFDocumento18 páginasO Estruturalismo e o Ensino de Línguas PDFCarlos TenreiroAinda não há avaliações
- A Raposa de Cima e A Raposa de Baixo JMA em Portugues PDFDocumento308 páginasA Raposa de Cima e A Raposa de Baixo JMA em Portugues PDFRomulo Monte AltoAinda não há avaliações
- ORLANDI Eni Puccinelli Analise Do Discurso - Princ PDFDocumento7 páginasORLANDI Eni Puccinelli Analise Do Discurso - Princ PDFAlice MourãoAinda não há avaliações
- Edital Concurso Professor de 2013 PDFDocumento81 páginasEdital Concurso Professor de 2013 PDFLinneker BelinniAinda não há avaliações
- Eduardo Bittar Pós ModernidadeDocumento21 páginasEduardo Bittar Pós ModernidadeRosa NegriniAinda não há avaliações
- Cadernos de Orientação Curricular AcreDocumento57 páginasCadernos de Orientação Curricular AcrePIBID - FIL - UnBAinda não há avaliações
- Niklas Luhmann O Conceito de SociedadeDocumento27 páginasNiklas Luhmann O Conceito de SociedadeRalph MarianoAinda não há avaliações
- BIOLOGIA CP 1s Vol2reduzidoDocumento56 páginasBIOLOGIA CP 1s Vol2reduzidoSamila Arriates LopesAinda não há avaliações
- Vigilância Na Gravidez de Baixo RiscoDocumento112 páginasVigilância Na Gravidez de Baixo RiscoRaquelAinda não há avaliações
- O Homem e Sociedade - Livro TextoDocumento156 páginasO Homem e Sociedade - Livro TextoluanaAinda não há avaliações
- Elis Regina - Alô, Alô MarcianoDocumento3 páginasElis Regina - Alô, Alô MarcianocesarmorenomusicistaAinda não há avaliações
- Atividade de InglêsDocumento3 páginasAtividade de InglêsRaphaela Abrantes NobregaAinda não há avaliações
- A Importância Da Iluminação Na Saúde e Bem-Estar Das PessoasDocumento4 páginasA Importância Da Iluminação Na Saúde e Bem-Estar Das PessoasIasmim AspahanAinda não há avaliações
- Época - 18 02 2019Documento84 páginasÉpoca - 18 02 2019Arnaldo Brito BastosAinda não há avaliações
- DespondencyDocumento3 páginasDespondency11A 10 BM a903222 Iara PinheiroAinda não há avaliações
- A Origem Do Programa Saúde Da Família Ou PSFDocumento17 páginasA Origem Do Programa Saúde Da Família Ou PSFadersonjnrAinda não há avaliações
- 30 - CRISTOLOGIA NO A.T. - Parte 3 H - +èXODO 21...Documento1 página30 - CRISTOLOGIA NO A.T. - Parte 3 H - +èXODO 21...evwbrunoAinda não há avaliações
- Sobre o Trilema de Fries em K. PopperDocumento1 páginaSobre o Trilema de Fries em K. PopperJuliano Gustavo Ozga100% (1)
- UERJ - 2001 - Linguagues - Codigos - 28Documento19 páginasUERJ - 2001 - Linguagues - Codigos - 28Jorge InabaAinda não há avaliações
- Texto Musicas Africanas Funga AlafiaDocumento12 páginasTexto Musicas Africanas Funga AlafiaGuilherme MartiniAinda não há avaliações
- 3 Mestres Da Literatura Detestados Por Tolstói - Russia Beyond BRDocumento8 páginas3 Mestres Da Literatura Detestados Por Tolstói - Russia Beyond BREDOSNAinda não há avaliações
- Portaria #1416-A, 2006 de 19 de Dezembro - Registos On LineDocumento5 páginasPortaria #1416-A, 2006 de 19 de Dezembro - Registos On LineSara PintoAinda não há avaliações
- Normas para Publicação Revista IespDocumento5 páginasNormas para Publicação Revista IespGraice Kelly DE Monaco KellyAinda não há avaliações
- Como A Gestão Por Processos Ajudou A Natura A Faturar Mais - EXAMEDocumento8 páginasComo A Gestão Por Processos Ajudou A Natura A Faturar Mais - EXAMEJonnas Câmara de AbreuAinda não há avaliações
- Carta Abertura de Conta SalarioDocumento2 páginasCarta Abertura de Conta SalarioKarina CixAinda não há avaliações
- Guia TELP, Tecnica de ExpressaoDocumento24 páginasGuia TELP, Tecnica de Expressaonuro2010100% (2)