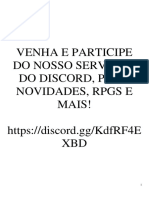Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ABIB - Sensibilidade
ABIB - Sensibilidade
Enviado por
Mariana KleinDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ABIB - Sensibilidade
ABIB - Sensibilidade
Enviado por
Mariana KleinDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ISSN 1413-389X
Temas em Psicologia - 2010, Vol. 18, no 2, 283 293
Sensibilidade, felicidade e cultura
Jos Antnio Damsio Abib
Universidade Federal de So Carlos, SP e Universidade Estadual de Maring/Fundao
Araucria, PR Brasil
Resumo
Este ensaio revisita o conceito de sensibilidade. Argumenta-se que ele pode se referir sensao,
percepo e a sentimento. Argumenta-se tambm que a evoluo legou-nos uma sensibilidade aos
acontecimentos do presente, do aqui e agora. O valor dessa sensibilidade inegvel. Mas necessrio
desenvolver projetos de educao da sensibilidade a consequncias culturais remotas, com valor de
sobrevivncia para os indivduos, grupos sociais e culturas. Sugere-se que uma educao da
sensibilidade orientada pela imaginao e por uma tica da felicidade pode contribuir para
desenvolver uma sensibilidade a consequncias culturais dessa natureza.
Palavras-chave: Sensao, Percepo, Sentimento, Imaginao, tica.
Sensibility, happiness and culture
Abstract
The concept of sensibility is reviewed in this essay. Sensibility may refer to sensation, perception and
feeling. Sensibility has evolved until hedonic sensibility. Evolution has given us sensibility to events
of the present, here and now. This sensibilitys value is unquestionable. But it is necessary to develop
educative projects of sensibility to distant consequences in the future, with survival value to the
individuals, social groups and cultures. It is suggested that an education enlightened by ethics of
hapiness may contribute to develop sensibility to cultural consequences with survival value of this
kind, societies and cultures.
Keywords: Sensation, Perception, Feeling, Imagination, Ethics.
O
conceito
de
sensibilidade
semanticamente carregado. Pode at no
parecer, pois, de certo modo, tem sado de cena.
Mas isso apenas porque se esconde sob outros
processos, e sob outros nomes.
Houve uma transformao significativa na
evoluo da sensibilidade, mas essa evoluo
limita-se a referi-la aos acontecimentos
presentes, ao que acontece no aqui e agora. O
valor dessa sensibilidade inegvel. Porm, se
estivermos interessados em desenvolver
projetos culturais, com valor de sobrevivncia
para os organismos, indivduos, grupos sociais
e culturas, precisaremos de uma sensibilidade
ao no acontecimento: uma sensibilidade
destinada a consequncias remotas, distantes no
tempo, longe, l no futuro. A formao desse
gnero de sensibilidade pode ser o projeto de
uma educao da sensibilidade.
Este ensaio tenta esclarecer alguns
sentidos do conceito de sensibilidade. Com essa
finalidade, argumentamos inicialmente que o
conceito de sensibilidade refere-se sensing,
no sentido de sensao e percepo. E em
seguida, que ele se refere suscetibilidade, no
sentido
de
sentimento.
Finalmente,
desenvolvemos uma reflexo sobre tica da
felicidade, sob a perspectiva do hedonismo
epicurista, como possvel lume de um projeto
de educao da sensibilidade
Sensing
Skinner (1989) define sensing: Para
responder efetivamente ao mundo em nosso
entorno devemos ver, ouvir, cheirar, saborear,
ou senti-lo (p. 15, itlico nosso). Segundo
Skinner, ver comportamento. Deduzimos que,
se ver comportamento, ento ouvir, cheirar,
saborear, sentir o mundo em nosso entorno
tambm so comportamentos. Mas Skinner
tambm diz que ver somente parte do
comportamento. Deduzimos que, se ver
somente parte do comportamento, ento ouvir,
_____________________________________
Endereo para correspondncia: Jos Antnio Damsio Abib E-mail: j.abib@terra.com.br.
284
cheirar, saborear, sentir o mundo em nosso
entorno tambm somente parte do
comportamento.
Afirmamos
que
essa
parte
do
comportamento consiste na sensibilidade.
Afirmamos tambm que essa parte do
comportamento existe em relao com outra
parte do comportamento: a motricidade. Logo,
a elucidao do conceito de sensibilidade
envolve, ao menos, duas investigaes. A
primeira consiste em responder a esta pergunta:
O que sensibilidade? A segunda consiste em
responder a esta outra pergunta: Como acontece
a relao entre a sensibilidade e a motricidade?
O conceito de sensibilidade refere-se a
sensaes (Geldard, 1975; Piron, 1951/1972;
Warren, 1934/1956). Piron (1951/1972)
escreve: Sensibilidade emprega-se, sobretudo,
em relao a um estmulo definido....
Sensibilidade luminosa considerada em funo
de uma varivel de estmulo (p. 390). Warren
(1934/1956) escreve isto sobre a sensibilidade:
Capacidade sensorial medida pelos atributos
de qualidade, intensidade, extensibilidade e
durao (p. 327). O conceito de sensibilidade
pode
significar
ainda
predisposio
psicofsica (p. 327).
O conceito de sensibilidade refere-se
tambm a marcada suscetibilidade para
experincias afetivas e emotivas (Warren,
1934/1956, p. 327). Geldard (1975) limita o
estudo da sensibilidade ao exame das
sensaes. E estuda suscetibilidade a
experincias afetivas e emotivas quando
examina as emoes, prtica frequentemente
encontrada em outros autores (Baker, 1960;
Fantino, 1973; Hilgard, 1962; Woodworth &
Schlosberg, 1938/1995).
Se h uma parte do comportamento que
consiste na sensibilidade e se o conceito de
sensibilidade refere-se no s a sensaes, mas
tambm a suscetibilidade para experincias
afetivas e emotivas, no evidente que
precisamos sondar como acontece a relao
entre essa parte do comportamento, a
sensibilidade, e outra parte do comportamento,
a motricidade?
Embora seja difcil estabelecer prioridades
histricas, o texto cannico sobre a relao
entre a sensibilidade e a motricidade talvez seja
O conceito de arco reflexo na psicologia do
filsofo pragmatista norte-americano John
Dewey (1896). O filsofo critica o conceito de
arco-reflexo na psicologia. Esse conceito
explica a dependncia que a motricidade tem da
Abib, J. A. D.
sensibilidade, embora seja inadequado para
explicar a dependncia que a sensibilidade tem
da motricidade. Isso porque a relao entre a
sensibilidade e motricidade um circuito e no
um arco.
O que o filsofo critica a concepo
mecanicista do arco-reflexo. De acordo com
essa concepo, os processos psicofsicos e
psicofisiolgicos so lineares e independentes.
Dewey afirma que isso no verdade. No h,
diz o filsofo, uma sequncia de processos
lineares e independentes com incio no estmulo
fsico, ou ainda, na sensao 1 , com desfecho na
motricidade ou no movimento dos organismos.
O filsofo defende ento uma concepo
organicista do arco. De acordo com essa
concepo, a relao entre a sensao e a
motricidade interdependente, e no linear.
A organicidade, o circuito envolvendo a
sensao e o movimento, pode ser ilustrada
com a anlise do comportamento de uma
criana ao tentar pegar a chama de uma vela.
Segundo Dewey, ver a chama de uma vela um
comportamento. Isso quer dizer que ver a
chama de uma vela no uma sensao. Como
comportamento, ver a chama de uma vela
uma coordenao sensrio-motora. Com mais
preciso, podemos dizer que uma
coordenao tico-ocular. Nessa coordenao,
a sensao visual ajusta os movimentos do
corpo, da cabea, e dos msculos dos olhos.
Por sua vez, os movimentos do corpo, da
cabea e dos msculos dos olhos ajustam a
sensao visual. A coordenao tico-ocular
envolve, portanto, um circuito de ajustes e
reajustes. Com efeito, a sensao visual ajusta
os movimentos; os movimentos ajustam o olho
chama; o olho ajusta a sensao visual. Ou
ainda, os movimentos ajustam o olho chama;
o olho ajusta a sensao visual; a sensao
visual ajusta os movimentos. Com razo,
conclui o filsofo: ver um comportamento,
no uma sensao.
Podemos descrever o circuito reflexo
1
Em seu livro, Psicologia da forma, Paul Guillaume
(1979) afirma que a noo de estmulo ambgua:
pode se referir aos estmulos fsicos como, por
exemplo, energia luminosa, energia acstica, energia
mecnica, etc., bem como aos efeitos desses
estmulos sobre os rgos receptores (as
terminaes nervosas perifricas) e as projees
nervosas centrais, isto , as sensaes ou qualidades
sensoriais (qualidades de cores, sons, presso, dor,
etc.).
Sensibilidade, Felicidade e Cultura
partindo da sensao ou do movimento. A
escolha arbitrria. Mas necessrio cautela
para no designar um estatuto ontolgico a tais
descries. Pois a sensao inexiste sem o
movimento e o movimento inexiste sem a
sensao. O que existe o comportamento: a
coordenao sensrio-motora, a relao
orgnica entre movimento e sensao.
Ontologicamente, portanto, o ponto de partida
o comportamento. A descrio que fazemos a
partir da sensibilidade enfatiza a dimenso
sensorial coordenada dimenso motora. Isso
quer dizer que a dimenso sensorial inclui e
pressupe a dimenso motora. J a descrio
que fazemos a partir da motricidade enfatiza a
dimenso motora coordenada dimenso
sensorial. Isso quer dizer que a dimenso
motora inclui e pressupe a dimenso sensorial.
Outros exemplos de coordenao sensriomotora
podem
ser
encontrados
no
comportamento de amebas, protozorios e
bactrias (Maturana & Varela, 1987/1995).
Esses autores afirmam que o meio ambiente de
uma ameba pode ser alterado por substncias
produzidas por um protozorio e que a
constituio fsico-qumica da membrana da
ameba afetada por tais substncias. Como
resultado de tais alteraes, ocorrem
modificaes protoplasmticas que do origem
a um pseudpode, uma expanso ou digitao,
que desloca o organismo em seu meio
ambiente. A posio e direo do organismo
so modificadas, elevando a concentrao de
substncias em interao com sua membrana,
at que a ameba engole o protozorio. Os
bilogos chilenos explicam o comportamento
da ameba referindo-se a uma coordenao
recorrente entre uma superfcie sensorial e
outra motora.
Maturana e Varela (1987/1995) afirmam
que algumas bactrias possuem flagelos em
forma de hlices propulsoras que giram fixas
sobre sua base. Giram em duas direes. Em
uma, giram e tombam sem sair do lugar. Em
outra, se deslocam. Se forem colocadas em um
meio contendo um gradiente de acar, giram
em sua direo. Como as membranas das
bactrias possuem molculas que reagem ao
acar, elas modificam e ajustam o giro de suas
hlices conforme a quantidade de acar que
penetra em suas molculas. Os bilogos
chilenos usam o conceito de coordenao
285
sensrio-motora 2
para
explicar
o
comportamento das bactrias.
Maturana e Varela (1987/1995) afirmam
que, quando um protozorio se choca com um
obstculo em um meio aquoso, uma estrutura
em forma de flagelo no interior de sua clula se
dobra. Ocorrem ento alteraes no citoplasma
que levam o flagelo a fazer um breve giro,
arrastando a clula em outra direo. Mais uma
vez os bilogos chilenos explicam o
comportamento do protozorio em termos de
coordenao sensrio-motora. Alm disso,
ressaltam que a estrutura sensorial e a estrutura
motora do protozorio ainda no se separaram.
H apenas uma estrutura que , ao mesmo
tempo, sensorial e motora. Esse exemplo
mostra que, do ponto de vista evolutivo, a
coordenao sensrio-motora no um
processo que pressupe primeiro a separao
das superfcies sensorial e motora para s ento
se desenvolver a coordenao. Ao contrrio,
essa coordenao originria, primitiva 3 .
2
Maturana e Varela (1987/1995) mostram que o
comportamento pode ser definido por seus aspectos
adaptativos ao ambiente sem envolver o movimento.
Discutimos essa possibilidade em outro lugar (Abib,
2007). Para os propsitos deste texto, enfatizamos a
caracterstica motriz do comportamento. O que,
evidentemente, no nega suas funes adaptativas.
Pois, como escreve Piaget (1976/s.n.):
Entendemos por comportamento o conjunto
das aes que os organismos exercem sobre
o meio exterior para modificarem os seus
estados ou para transformarem a sua prpria
situao, em relao a esse meio: por
exemplo, a procura de alimentao, a
construo de um ninho, a utilizao de um
instrumento, etc. (p. 5).
Como a superfcie sensorial e a superfcie motora
do protozorio a mesma, Maturana e Varela
(1987/1995) afirmam que o acoplamento estrutural
do organismo ao meio imediato. O que nos leva a
crer que no imediato nos exemplos da ameba e da
bactria. Contudo, nos trs exemplos, eles afirmam
que a coordenao sensrio-motora se d por meio
de processos no interior da clula, ou seja, por
transformaes metablicas prprias da unidade
celular (p. 179). Pode-se indagar se a coordenao
sensrio-motora no se refere ao processo de
irritabilidade. Por um lado, sim, porque a
irritabilidade suscetibilidade a estimulao, bem
como caracterstica fundamental da matria
orgnica, ou (nos organismos superiores) dos
nervos, receptores, msculos e glndulas (Warren,
1934/1956, p. 190). Mas, por outro lado, no,
porque a irritabilidade, no sentido tcnico quase
286
A inseparabilidade ontolgica da dimenso
sensvel em relao dimenso motriz foi
ressaltada por Piaget em sua crtica teoria da
origem sensorial do conhecimento cientfico. O
psiclogo suo argumenta que, quando
percebemos uma casa, no vemos primeiro seus
pormenores, como, por exemplo, a cor de uma
parede, a largura de um cmodo, o tamanho do
p direito, e depois a casa. Ao contrrio, ele
diz: Percebo, imediatamente, a casa como
Gestalt e s depois passo anlise do
pormenor (Piaget, 1957/1978, p. 72). A
propsito, cita o neurologista V. Weizsker
(citado em Piaget, 1957/1978): Quando
percebo uma casa, no vejo uma imagem que
entra em meus olhos; vejo, ao contrrio, um
slido no qual posso entrar (p. 72). O que
existe de imediato so as percepes. As
sensaes so abstraes analticas. Piaget com
a palavra: Existe de imediato percepo como
totalidade e as sensaes so ento apenas os
elementos
estruturados
e
no
mais
estruturantes (p. 71-72).
Mas logo o psiclogo suo se pergunta:
A percepo constitui realidade autnoma?
(Piaget, 1957/1978, p. 72). Afirma que no,
porque a percepo depende da motricidade.
Refere-se, ento, ao conceito de Gestaltkreis
(crculo Gestltico) do neurologista V.
Weizsker, para ressaltar o efeito da
motricidade sobre a percepo. Piaget conclui
que se deve ao modelo simplista do arcoreflexo (leia-se: mecanicista) a concepo que
v a ao como resultado exclusivo da
percepo sobre a motricidade (p. 72).
A dimenso sensvel da ao refere-se,
agora, em Piaget (1957/1978), percepo. O
que existe de imediato no so as sensaes,
so as percepes. A concepo sensriomotora do comportamento fundamenta-se na
psicologia clssica 4 , que diferencia a sensao
sinnimo de sensibilidade, porm sem referncia a
uma sensao consequente (Warren, 1934/1956, p.
190).
4
A psicologia clssica refere-se psicologia
introspectiva. A crtica de Piaget a essa psicologia
anloga quela que foi feita por Khler (1929/1970).
A crtica da psicologia da Gestalt psicologia
introspectiva foi determinante para a concepo de
que o que existe de imediato a percepo, e no a
sensao (Khler). Evidentemente que nem Piaget,
nem Khler esto a negar que as sensaes existam.
Pois sem elas no h percepo. O que esto a negar
que sensaes isoladas sejam percebidas de
imediato. O que percebido de imediato so
Abib, J. A. D.
da percepo; a sensao referindo-se s
qualidades sensoriais (qualidades de cor, som,
presso, etc.) e a percepo, aos objetos (a casa,
a rvore, etc.). Porm, no se acredita mais
hoje em dia nas sensaes elementares e
preliminares (Piaget, 1957/1978, p. 71). As
observaes de Piaget podem ser generalizadas
para os exemplos de Maturana e Varela
(1987/1995). Pois os microorganismos so
dotados de percepo (Margulis & Sagan,
1998/2002).
Para os que concordam com Piaget, a
unidade sensrio-motora passa a ter o sentido
de percepo. Diriam que: ver, ouvir, cheirar,
saborear, sentir o mundo em nosso entorno
percepo. Sendo assim, da perspectiva de
Piaget, seria mais correto chamar a unidade
sensrio-motora de unidade perceptual-motora.
Para assimilar os conceitos de unidade
sensrio-motora e perceptual-motora, podemos
usar a expresso relao sensvel-motora.
A sensibilidade refere-se, tambm, como
disse Warren (1934/1956), a marcada
suscetibilidade para experincias afetivas e
emotivas (p. 327). Nosso prximo ponto.
Suscetibilidade
Em um de seus exames sobre as
consequncias do comportamento, Skinner
(1987) afirma que uma consequncia
imediata, ingesto de alimento, por exemplo,
envolve duas consequncias, uma relacionada
seleo natural e outra a uma suscetibilidade
evoluda ao reforamento por um gosto
particular (p. 70-71).
Se a suscetibilidade a consequncias
reforadoras evoluda, ento h uma
suscetibilidade
a
consequncias
do
comportamento que, ou no evoluda, ou
menos
evoluda.
Provavelmente,
essa
suscetibilidade refere-se s consequncias
naturais do comportamento. H duas
suscetibilidades
s
consequncias
do
comportamento: uma natural, outra reforadora.
primeira vista, no temos como distinguir
suscetibilidade s consequncias naturais de
suscetibilidade s consequncias reforadoras.
Essa dificuldade persiste at que possamos
esclarecer o que significa suscetibilidade
evoluda ao reforo.
sensaes estruturadas. Os dados imediatos da
percepo so sensaes estruturadas e no
sensaes isoladas.
Sensibilidade, Felicidade e Cultura
Skinner (1987) refere-se ao gosto
particular do alimento. Segue-se, ento, que a
suscetibilidade evoluda ao reforo pode se
referir a ver, ouvir, cheirar e sentir coisas
particulares. O acento est na expresso gosto
particular do alimento. O que ele enfatiza
uma sensibilidade particular: ver, ouvir,
cheirar e sentir coisas particulares. H uma
passagem que fornece evidncias para essa
concluso:
Quando
o
comportamento
simplesmente o produto da seleo
natural, o contato no necessita ser, e
presumivelmente no , um reforador.
Mas quando, atravs da evoluo de
suscetibilidades especiais, alimento e
contato sexual tornam-se reforadores,
novas formas de comportamento podem
ser estabelecidas. (p. 53, itlicos nossos).
Agora, Skinner (1987) usa a expresso
suscetibilidades
especiais.
Sensibilidades
particulares e sensibilidades especiais. O que
significam? O psiclogo norte-americano
fornece uma pista quando se refere ao
comportamento que pode ser reforado com
alimento ou sexo: O comportamento no
necessariamente
adaptativo.
Comem-se
alimentos que no so saudveis. E fortalece-se
comportamento sexual que no relacionado
procriao (p. 53). Um gosto particular
reforador, outro no . Um contato sexual
reforador, outro no .
Skinner (1974) explicou a suscetibilidade
especial s consequncias reforadoras em
termos do seu valor de sobrevivncia.
Passando-lhe a palavra: A suscetibilidade ao
reforo devida ao seu valor de sobrevivncia
(p. 47). possvel que, no curso da evoluo,
tal suscetibilidade tenha surgido devido a um
valor de sobrevivncia. Mas seria mais
adequado vincular esse valor s consequncias
naturais. Pois, logicamente, no se concebe que
comportamentos que no so necessariamente
adaptativos possam ser fortalecidos por
consequncias reforadoras devido ao seu valor
de sobrevivncia.
A suscetibilidade s consequncias
reforadoras especial ou particular,
caractersticas que, aparentemente, faltam
suscetibilidade s consequncias naturais. no
aspecto de ser especial ou particular que a
suscetibilidade s consequncias reforadoras
evoluda. Mas, ao que se refere essa
suscetibilidade, se no tem valor de
287
sobrevivncia, se no tem necessariamente
valor adaptativo, se certo alimento pode
reforar o comportamento, mesmo quando no
saudvel, se certo contato sexual pode
reforar o comportamento, mesmo quando no
envolve procriao?
Uma possibilidade consiste em retomar o
hedonismo e afirmar que a suscetibilidade
evoluda refere-se ao valor hednico. Isso nos
leva a dizer que o reforo fortalece o
comportamento porque produz prazer e sua
remoo o enfraquece porque produz desprazer,
dor, sofrimento. Ou ainda, o reforo fortalece o
comportamento porque o organismo sente
prazer e sua remoo o enfraquece porque o
organismo
sente
desprazer,
dor,
ou
simplesmente, sofre. O comportamento pode
ser
fortalecido
ou
selecionado
por
consequncias naturais ou reforadoras. Mas as
razes so diferentes. As consequncias
naturais fortalecem o comportamento porque
tm valor de sobrevivncia. As consequncias
reforadoras fortalecem o comportamento
porque so fonte de prazer e de eliminao de
desprazer, dor e sofrimento.
Estamos diante de outro sentido do
conceito de sensibilidade: a sensibilidade
hednica. Warren (1934/1956) afirma que a
teoria da sensibilidade refere-se hednica
(hednica). A hednica o ramo da psicologia
que estuda os afetos agradveis e
desagradveis (p. 159). Refere essa
caracterizao ao francs thorie de la
sensibilit (p. 199). E afirma que o termo
hednico refere-se ao afeto ou tom afetivo (p.
160).
De acordo com Skinner (1969), sentimos
prazeres, dores e emoes. Sentimos os
desprazeres das dores da fome, da bexiga cheia,
do dente inflamado, bem como os prazeres que
advm da eliminao dessas dores. Sentimos
emoes: Uma pessoa que foi atacada por
outra no apenas responde agressivamente, mas
tambm sente raiva (p. 257). Sentimos o
prazer ou desprazer do gosto de determinado
alimento ou de um contato sexual particular.
Sentimos o prazer da alegria. Sentimos o prazer
do amor. Sentimos o desprazer da raiva.
Sentimos o desprazer da tristeza. Sentimos
prazeres e desprazeres mais ou menos intensos
(Hilgard, 1962). Sentimos desprazeres mais
intensos na fria, no horror, na agonia, no luto
do que na raiva, no medo, na dor, na tristeza.
Sofremos nos desprazeres mais intensos do que
nos menos intensos. O sofrimento da fria, do
288
horror, da agonia e do luto mais intenso do
que o sofrimento da raiva, do medo, da dor, da
tristeza.
So
prazeres,
desprazeres,
dores,
sofrimentos, emoes que devemos sentir para
responder efetivamente ao mundo em nosso
entorno. Se, por uma razo qualquer, no
formos capazes de sentir essas coisas, no
responderemos de modo efetivo ao mundo em
nosso entorno. E isso vale para os prazeres ou
desprazeres, para as emoes prazerosas ou
no, para as que so fontes de dor e sofrimento
ou no.
Sentir comportamento: coordenao
afetivo-motora 5 . Mas Skinner disse: sentir o
mundo em nosso entorno. Sentir prazer,
desprazer, dor, sentir emoes, sentir o
mundo em nosso entorno? Sentimos o mundo
em nosso entorno quando sentimos prazeres,
desprazeres, dores, emoes? Evidentemente
que sim! Pois as relaes entre a sensibilidade e
o comportamento so mundanas: relacionam-se
com o mundo. So relaes que produzem
consequncias no mundo, que, por sua vez, as
fortalecem ou as enfraquecem ou as modificam.
Sentimos esses efeitos que vm do mundo:
sentimos o mundo.
As sensibilidades sensorial, perceptual e
hednica fazem parte da histria natural da
sensibilidade. Mas a evoluo da sensibilidade,
conquanto sofisticada, no suficiente para
apoiar projetos culturais com valor de
sobrevivncia para os organismos, indivduos,
grupos sociais e culturas. Para eventualmente
tratar com essa insuficincia, necessrio
No devemos esquecer que Skinner (1989) disse
que ver comportamento. De onde inferimos que
sentir (como ver, ouvir, cheirar, saborear) tambm
comportamento. Skinner tambm disse que esses
comportamentos so obrigatrios (pois usou o termo
must, que indica necessidade, obrigao, alguma
coisa indispensvel) para respondermos com
efetividade ao mundo em nosso entorno.
Deduzimos, portanto, que, se h coordenao
sensrio-motora no ver, ouvir, cheirar, saborear, h
tambm coordenao afetivo-motora no sentir. Por
exemplo, no sei se vou sentir, ou se devo sentir, um
mal-estar em uma situao que se configura agora,
neste preciso momento, em meu entorno, como
fortemente estressante. Mas sei que se sentir um
mal-estar, vou me movimentar, vou agir de algum
modo, vou tomar um medicamento, vou fugir da
situao, vou tentar modific-la, vou evit-la em
ocasies posteriores.
Abib, J. A. D.
discutir o que pode vir a ser um projeto de
educao da sensibilidade.
tica da Felicidade
Um projeto de educao da sensibilidade
defronta-se com duas dificuldades. A primeira
refere-se sensibilidade hednica s
consequncias imediatas do comportamento. A
segunda refere-se ausncia de uma
sensibilidade s consequncias remotas ou
ulteriores do comportamento.
Um projeto de educao da sensibilidade
comea aonde termina a histria natural da
sensibilidade. Entendemos que o conceito de
sensibilidade no deva restringir-se ao
significado que carrega vinculado ao trmino
dessa histria. Se assim fosse, ele ficaria
limitado ao imediatismo e, evidentemente, um
projeto de educao da sensibilidade estaria
inviabilizado por princpio.
Um projeto de educao da sensibilidade
visa formao de uma sensibilidade a
consequncias remotas. Mas, para que isso
possa ser pensado, precisamos de um conceito
mais amplo de sensibilidade. Um que vise nos
tornar sensveis ao no acontecimento. Pois a
consequncia remota refere-se ao no
acontecimento ou ao acontecimento que se
ocorrer pode ou no fazer uma diferena e se
fizer uma diferena ela pode ou no ser
significativa. A sensibilidade ao no
acontecimento relaciona-se com o primeiro
sentido do conceito de sensibilidade, isto ,
capacidade de um organismo para receber
estimulaes (Warren, 1934/1956, p. 327).
Um exemplo pode ilustrar a relao entre a
formao
da
sensibilidade
ao
no
acontecimento e essa capacidade.
O cineasta Florian Henckel von
Donnersmarck, diretor e roteirista do belo filme
A vida dos outros (Von Donnersmarck, 2008),
diz em uma entrevista (Von Donnersmarck,
2010) o seguinte: Li em um livro de Mximo
Gorki, que Lnin havia lhe dito: No quero
mais ouvir minha msica favorita, Apassionata,
de Beethoven. Ela me faz querer acariciar as
pessoas e dizer-lhes coisas boas, e, desse modo,
eu no conseguiria seguir matando-as e realizar
a revoluo. Parecia o exemplo extremo de
algum bloqueando a prpria humanidade.
Resolvi criar uma situao em que Lnin fosse
obrigado a ouvir a Apassionata. Lnin virou
Ulrich, e a Apassionata, a bela sonata composta
por Gabriel para o filme.
Sensibilidade, Felicidade e Cultura
Podemos imaginar e criar situaes que
propiciem a ocorrncia do no acontecimento,
isto , o acontecimento que no ocorreria na
ausncia da situao imaginada e criada. Ou
ainda, podemos perguntar: O que que no
aconteceu que se acontecesse faria uma
diferena que seria uma notvel diferena? O
critrio que decide o que pode ser uma
diferena notvel ou no, um acontecimento
notvel ou no, depende dos sentimentos que
possam ser despertados. No comentrio de
Florian, Lnin sente que se continuar ouvindo a
Apassionata, a bela sonata, ele no ser capaz
de continuar matando as pessoas, e no
realizar a revoluo. O cineasta ento obriga
Ulrich, capito da Stasi (polcia secreta da
Alemanha Oriental) a ouvir a bela sonata que
Gabriel comps para o filme. A humanidade de
Ulrich desabrocha e suas aes subsequentes
mudam completamente o curso da histria.
O capito que espionava um casal de
artistas comove-se com suas vidas e faz
precisamente o contrrio do que deveria fazer:
tenta salv-los ao invs de denunci-los aos
seus superiores, seja porque o escritor estava
envolvido com atividades subversivas, seja
porque a atriz (e sua mulher) obrigada a fazer
favores sexuais a um chefo da Stasi. O capito
se torna sensvel a uma consequncia remota, a
um no acontecimento, quase inimaginvel
para um policial da Stasi. Poderamos at dar o
seguinte ttulo a esse filme: A Apassionta
contra a Stasi.
Uma nova sensibilidade depende de
sensaes, percepes e prazeres. Mas o
processo psicolgico fundamental dessa nova
sensibilidade a imaginao. Quais so as
situaes que podemos imaginar que nos levem
a querer acariciar as pessoas e dizer-lhes coisas
boas ao invs de querer mat-las? Ou: como
fazer a paz e no a guerra 6 ? Ser sensvel paz
6
O filme brasileiro Tempos de paz (Filho, 2010)
encena um intenso e comovente dilogo entre um
imigrante polons tentando obter um visto de
entrada no Brasil como lavrador em 1945 e um
burocrata brasileiro da Alfndega especializado em
tortura. O burocrata duvida das reais intenes do
polons. Afinal, suas mos no so speras, nem
calejadas como deveriam ser as mos de um
lavrador. O polons, que fala o portugus muito
bem, termina revelando sua real profisso: ele um
ator. Mas o burocrata continua duvidando de suas
reais intenes. Afinal, se um ator, por que
pretende entrar no Brasil como lavrador? Porque,
diz o imigrante, o Brasil precisa de braos para a
289
ser sensvel a uma consequncia remota. ser
sensvel ao no acontecimento. Como, ento,
desenvolver essa sensibilidade? Podemos
imaginar situaes que ajudem as pessoas a se
tornarem sensveis a esse no acontecimento?
Situaes que nos levem a querer acarici-las,
dizer-lhes coisas boas, trat-las amigavelmente,
mesmo quando so estranhas para ns, no
pode ser uma possibilidade? E no a
imaginao, o processo psicolgico central para
sondar novas possibilidades? Nesse sentido, um
projeto de educao da sensibilidade um
projeto de educao da imaginao.
Consequncias naturais e reforadoras
fortalecem comportamentos. Mas, repetimos, as
razes pelas quais o fazem so diferentes. As
consequncias naturais o fazem porque tm
valor de sobrevivncia para os organismos 7 . As
consequncias reforadoras o fazem porque
tm valor hednico para os indivduos e grupos
sociais. As razes pelas quais as consequncias
naturais e reforadoras fortalecem o
comportamento
dependem
de
uma
sensibilidade imediata.
As consequncias culturais tambm
fortalecem o comportamento. E o fazem por
razes similares. Seja porque tm valor de
sobrevivncia (medicamentos, alimentos etc.)
ou hednico (drogas, prazeres da sociedade de
consumo etc.) para os indivduos e grupos
sociais. As consequncias culturais que
fortalecem o comportamento por razes
hednicas
frequentemente
ameaam
a
sobrevivncia dos indivduos e grupos sociais
lavoura. O burocrata prope ento um teste ao
polons: que o leve ao choro em dez minutos
fazendo uma representao baseado em suas
lembranas da Europa destruda pela guerra. Se
conseguir, obter o visto. A comovente
representao do ator leva o burocrata ao choro
(embora, como ele diz, no tenha entendido nada!).
Concede-lhe ento o visto. Na cena final, o ator
continua sua representao. Sua audincia? O
burocrata e seus colegas (alm de alguns outros
personagens emblemticos para o desenvolvimento
e desfecho da histria).
7
Darwin defende a seleo do organismo; Wallace,
a seleo da espcie; Lorenz, a seleo da espcie e
de grupo. Dawkins, a seleo do gene; Gould, a
seleo de todas essas unidades (Continenza, 2005;
Dawkins, 1976/1979). Skinner foi criticado por
defender a seleo da espcie ou de grupo.
Respondendo a seus crticos, reconheceu que
deveria ter dito que a primeira seleo refere-se
seleo do organismo e negou que defendesse a
seleo de grupo (Skinner, 1984a, 1984b).
290
(e, por decorrncia, ameaam tambm a
sobrevivncia das culturas). Essas razes esto
relacionadas com a sensibilidade imediata. Mas
h consequncias culturais que fortalecem o
comportamento devido ao seu valor de
sobrevivncia para os indivduos e grupos
sociais (e, por decorrncia, promovem tambm
a sobrevivncia das culturas). Essas
consequncias dependem da formao de um
tipo diferente de sensibilidade: a sensibilidade a
consequncias remotas.
As consequncias culturais so obras do
homem e no da natureza (salvo,
evidentemente, na medida em que o homem
tambm uma obra da natureza e no somente de
sua prpria inveno). As obras do homem so
as tecnologias, as artes, as cincias, os
medicamentos, os costumes, as vestimentas, as
regras jurdicas e morais de convivncia, os
governos democrticos, etc., que visam, em
princpio,
promover
e
garantir
sua
sobrevivncia individual e coletiva, bem como
seus prazeres. Mas, seja porque os interesses
individuais se sobrepem aos da coletividade,
seja porque as obras do homem possuem a
mdio e longo prazo consequncias imprevistas
e, frequentemente, ameaadoras, para a sua
prpria sobrevivncia, individual e coletiva,
bem como para o ventre que o gerou, a me
natureza, a relao do homem com sua cria
pede ateno e cuidado.
primeira vista, a sensibilidade evoluda
poderia ajudar o ser humano nessa tarefa. Mas
a sensibilidade hednica, talvez a maior
fragilidade humana, a que requer o maior
cuidado. Pois, sequer no curto prazo, essa
sensibilidade mede o risco das consequncias
para a sobrevivncia individual e coletiva. O
conceito de evoluo no significa progresso.
Referindo-se teoria da evoluo, NouelRnier (2007/2009) escreve que no h plano,
e tambm no h progresso: nenhuma espcie
superior a outra (p. 32). O conceito de
evoluo significa mudana e a sensibilidade
evoluda surge como obra da evoluo.
Portanto, a evoluo d origem a um tipo de
sensibilidade que diferente da sensibilidade
ao valor de sobrevivncia. Mas como o valor
hednico no significa progresso em relao ao
valor de sobrevivncia, ele no superior a
esse valor. E, na verdade, pode amea-lo.
O valor hednico pode ameaar a
sobrevivncia dos indivduos, grupos sociais e
culturas. Seria at mesmo ocioso fazer uma
identificao e classificao das fontes de
Abib, J. A. D.
prazer que ameaam a sobrevivncia das
pessoas e das comunidades, das sociedades e
das culturas. Basta pensar por um instante na
sociedade de consumo, que, paradoxalmente,
mas com admirvel astcia, fomenta
insatisfaes atravs da satisfao instantnea
de prazeres ilimitados, custa de tornar as
pessoas fragilizadas, quer do ponto de vista
fsico, ou psicolgico. Ou ainda, custa de
esgotar os recursos do espao vital, um dos oito
pecados mortais do homem civilizado (Lorenz,
1973/1991).
Epicuro (s.n./1997, 323-270 a. C.)
escreveu uma carta a seu discpulo Meneceu. A
carta sobre a felicidade. A ele escreve que o
prazer o incio e o fim de uma vida feliz (p.
37). Mas no se trata de um prazer qualquer. J
na abertura de sua missiva ele nos diz que
ningum hesite em se dedicar filosofia
enquanto jovem, nem se canse de faz-lo
depois de velho, porque ningum demasiado
jovem ou demasiado velho para alcanar a
sade do esprito. Quem afirma que a hora de
dedicar-se filosofia ainda no chegou, ou que
ela j passou, como se dissesse que ainda no
chegou ou que j passou a hora de ser feliz (p.
21, itlicos nossos). Nas palavras do filsofo,
ser feliz alcanar a sade do esprito. Ou
ainda, o prazer a sade do esprito. E,
continua a lio de Epicuro, a sade do esprito
consiste na serenidade.
A felicidade refere-se tambm realizao
dos prazeres do corpo. Mas isso deve ser feito
com moderao. O Jardim de Epicuro prova
dessa moderao. Viviam no jardim de sua
casa, acampados em barracas, mestres e
discpulos. Nesse jardim, vicejava uma
autntica comunidade, onde mestres e
discpulos viviam de maneira quase asctica,
consumindo apenas as hortalias que eles
prprios cultivavam, s quais acrescentavam
apenas po e gua, ou ainda queijo em ocasies
especiais (Lorencini & Carratore, 1997, p. 10).
Joyau e Ribbeck (1988) comentam que, para
Epicuro, o sbio aquele que com um pouco
de po e de gua rivaliza com Jpiter em
felicidade (p. XII).
A serenidade do esprito, a realizao
moderada dos prazeres do corpo, a amizade que
caracteriza a relao de Epicuro com seus
discpulos e colegas, no jardim, um homem
bondoso, terno e amvel, que auxilia seus
irmos, que trata delicadamente os escravos, a
esto os valores do hedonismo do filsofo.
Sensibilidade, Felicidade e Cultura
291
Se afastarmos a vulgata hedonista que
difunde o hedonismo como o gozo dos prazeres
do corpo e do mundo, gozo imoderado, sem
limites, e assimilarmos o hedonismo no sentido
de Epicuro, teremos a uma tica da felicidade
que pode iluminar a elaborao e
desenvolvimento de um projeto de educao da
sensibilidade.
A tica da felicidade, no sentido de
Epicuro (s.n./1997), contm algumas lies que
podemos extrair diretamente de suas pginas.
Diz o filsofo que h ocasies em que
evitamos muitos prazeres, quando deles nos
advm efeitos o mais das vezes desagradveis;
ao passo que consideramos muitos sofrimentos
preferveis aos prazeres, se um prazer maior
advier depois de suportarmos essas dores por
muito tempo (p. 39). Epicuro pensa que, por
sua prpria natureza, todo prazer um bem, e
que toda dor um mal. Mas nem por isso
escolhemos todos os prazeres e evitamos todas
as dores. Sendo assim, convm avaliar todos
os prazeres e sofrimentos de acordo com o
critrio de benefcios e danos. H ocasies em
que utilizamos um bem como se fosse um mal
e, ao contrrio, um mal como se fosse um bem
(p. 39).
Nem todo prazer conduz felicidade e
nem todo desprazer conduz infelicidade. H
prazeres que conduzem infelicidade e h
desprazeres que conduzem felicidade. Essa
lio est esquecida. Pensamos que todo prazer
felicidade e que todo desprazer infelicidade.
Konrad Lorenz (1973/1991) escreveu no
seu livro Os oito pecados mortais do homem
civilizado que os progressos tecnolgicos e
farmacolgicos favorecem uma crescente
intolerncia contra tudo que provoca desprazer
(p. 112). Um dos oito pecados mortais do
homem civilizado consiste precisamente em
que est desaparecendo a capacidade humana
de procurar aquele tipo de alegria que somente
se obtm superando obstculos ao preo de um
pesado esforo (p. 112). Esse o pecado,
continua Lorenz, que nos condena aos
sentimentos e emoes fracas. Sentimentos e
emoes fortes ou fracas enrazam-se na
natureza de nossas relaes com o mundo.
processos psicolgicos que pertencem esfera
da sensibilidade.
A sensibilidade no existe como
interioridade fechada sobre si mesma. Ao
contrrio, ela existe em relao com o
comportamento. E como o comportamento
existe em relao com o mundo, a sensibilidade
tambm existe em relao com o mundo.
Quando sentimos emoes, estamos sentindo o
mundo.
Relacionados s formas imediatas de
sensibilidade, sejam elas sensoriais, perceptuais
ou afetivas, o valor de sobrevivncia das
consequncias naturais e o valor hednico das
consequncias
reforadoras
fortalecem,
enfraquecem ou modificam o comportamento.
Mas a evoluo nos legou uma ausncia.
Ela no criou uma sensibilidade a
consequncias remotas do comportamento.
Essa ausncia representa um notvel obstculo
a projetos com a finalidade de gestar
consequncias culturais com valor de
sobrevivncia para as geraes presentes e
futuras.
Nossa sensibilidade ao no acontecimento,
ou no existe, ou pouco desenvolvida. O
projeto de educao da sensibilidade o projeto
de desenvolvimento da sensibilidade ao no
acontecimento. Refere-se imaginao do
ausente. Quais so os acontecimentos e os
sentimentos ausentes que se vierem a acontecer
podero contribuir para o desenvolvimento de
relaes pacficas entre as pessoas, as culturas,
e os pases?
Com esse projeto, pode-se, eventualmente,
esclarecer a sensibilidade hednica atravs do
exerccio cotidiano de uma tica da felicidade
que ilumine a busca de prazeres e desprazeres.
Que descubra ou invente, no s prazeres que
no ameacem a sobrevivncia dos indivduos e
dos agrupamentos humanos, mas tambm
desprazeres que no longo prazo sejam fontes de
prazeres mais intensos do que os prazeres
imediatos que ameacem a sobrevivncia das
humanidades.
Que contribua, enfim, para enfrentar um
dos pecados mortais do homem civilizado: a
incapacidade de tolerar o desprazer.
Concluso
Referncias
O conceito de sensibilidade contribui para
integrar diversas reas de pesquisa psicolgica.
Sensao, percepo, sentimento, emoo, so
Abib, J. A. D. (2007). Comportamento e
sensibilidade: vida, prazer e tica. Santo
Andr: ESETec.
292
Baker, L. M. (1960). General experimental
psychology: an introduction to principles.
New York: Oxford Univerity Press.
Continenza, B. (2005). Darwin: as chaves da
vida. Scientific American Brasil, 3, 4-98.
Dawkins, R. (1979). O gene egosta (G. H. M.
Florsheim, Trad.). So Paulo: Editora da
Universidade de So Paulo. (Originalmente
publicado em 1976).
Dewey, J. (1896). The reflex arc concept in
psychology. The Psychological Review, 3,
357-370.
Epicuro (1997). Carta sobre a felicidade: a
Meneceu (A. Lorencini & E. Del Carratore,
Trads.). So Paulo: Unesp. (Originalmente
publicado em s.d.).
Fantino, E. (1973). Emotion. In J. A. Nevin &
G. S. Reynolds (Orgs.), The study of
behavior: learning, motivation, emotion and
instinct (pp. 280-320). Illinois: Scott,
Foresman and Company.
Abib, J. A. D.
Margulis, L., & Sagan, D. (2002). O que
vida? (V. Ribeiro, Trad.). Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Editores. (Originalmente
publicado em 1998).
Maturana, H., & Varela, F. (1995). A rvore do
conhecimento: as bases biolgicas do
entendimento humano (J. P. dos Santos,
Trad.). Campinas: Editorial Psy II.
(Originalmente publicado em 1987).
Nouel-Rnier, J. (2009). Foi assim que o
homem descobriu que o macaco nosso
primo (E. Brando, Trad.). So Paulo:
Companhia das Letras. (Originalmente
publicado em 2007).
Piaget, J. (1978). Psicologia e epistemologia:
por uma teoria do conhecimento (A.
Cretella, Trad.). Rio de Janeiro: Forense
Universitria. (Originalmente publicado em
1957).
Piaget, J. (s.n.). Comportamento motriz da
evoluo (O. Magalhes, Trad.). Porto: RS
Editora. (Originalmente publicado em
1976).
Filho, D. (Diretor). (2010). Tempos de paz
(DVD). Manaus, AM: Europa Filmes.
Piron, H. (1972). Dicionrio de psicologia (D.
de B. Cullinan, Trad.). Porto Alegre: Globo.
(Originalmente publicado em 1951).
Geldard, R. A. (1975). Fundamentos de
psicologia (L. L. Tapia, Trad.). Mxico:
Trillas.
Skinner, B. F. (1969). Contingencies of
reinforcement: a theoretical analysis. New
York: Appleton-Century-Crofts.
Guillaume, P. (1979). La psychologie de la
forme. Paris: Flammarion.
Skinner, B. F. (1974). About behaviorism. New
York: Alfred A. Knopf.
Hilgard, E. R. (1962). Introduction to
psychology. United States of America:
Harcourt, Brace & World, Inc.
Skinner, B. F. (1984a). Authors response:
some consequences of selection. The
Behavioral and Brain Science, 7, 502-510.
Joyau, E., & Ribbeck (1988). Epicuro: vida e
obra. In Os Pensadores: Epicuro, Lucrcio
Ccero Sneca (pp. VII-XIII). So Paulo:
Nova Cultural.
Khler, W. (1970). Gestalt psychology. New
York: Liveright. (Originalmente publicado
em 1929).
Skinner, B. F. (1984b). Authors response:
phylogenic and ontogenic emvironments.
The Behavioral and Brain Science, 7, 701711
Skinner, B. F. (1987). Upon further reflection.
New Jersey: Prentice-Hall
Skinner, B. F. (1989). Recent issues in the
analysis of behavior. Ohio: Merrill
Publishing Company.
Lorencini, A., & Carratore, E. Del (1997).
Introduo. In Epicuro, Carta sobre a
felicidade: a Meneceu (pp. 5-17). So
Paulo: Unesp.
Von Donnersmarck, F. H. (2010, 22 de
janeiro). A vida dos outros. (DVD). Manaus,
AM: Europa Filmes.
Lorenz, K. (1991). Os oito pecados mortais do
homem civilizado. So Paulo: Brasiliense.
(Originalmente publicado em 1973).
Von Donnersmarck, F. H. (Diretor). (2008). A
vida dos outros (DVD). Manaus, AM:
Europa Filmes.
Sensibilidade, Felicidade e Cultura
Warren, H. C. (1956). Diccionario de
psicologia (E. Imaz, A. Alatorrre, L.
Alaminos, Trads.). Mxico: Fondo de
Cultura
Econmica.
(Originalmente
publicado em 1934).
293
Enviado em Junho de 2010
Aceite em Outubro de 2010
Publicado em Dezembro de 2010
Woodworth, R. S., & Schlosberg, H. (1955).
Experimental psychology. London: Methuen
& Co. Ltd. (Originalmente publicado em
1938).
Sobre o autor:
Jos Antnio Damsio Abib - Professor Adjunto do Departamento de Filosofia, Universidade Federal de So
Carlos, SP. Pesquisador visitante do Programa de Ps-Graduao em Psicologia. Universidade Estadual de
Maring/Fundao Araucria, PR.
Você também pode gostar
- Meia NoiteDocumento99 páginasMeia NoiteBárbara LiberatoAinda não há avaliações
- Conteúdo - Técnico de Laboratório de Análises ClínicasDocumento2 páginasConteúdo - Técnico de Laboratório de Análises ClínicasHelimarcosNunesAinda não há avaliações
- Percepção Termo Freqüente, Usos Inconseqüentes em Pesquisa PDFDocumento15 páginasPercepção Termo Freqüente, Usos Inconseqüentes em Pesquisa PDFFelipe MagalhaesAinda não há avaliações
- Consciência Fonologica 3Documento42 páginasConsciência Fonologica 3SimoneHelenDrumond100% (4)
- A Soma de Todos Os AfetosDocumento4 páginasA Soma de Todos Os AfetosAristóteles FernandesAinda não há avaliações
- PSICOMOTRICIDADE E PSICOPEDAGOGIA - Valquiria CostaDocumento30 páginasPSICOMOTRICIDADE E PSICOPEDAGOGIA - Valquiria CostaCintia Gisele CarvalhoAinda não há avaliações
- Processos Psicológicos BásicosDocumento14 páginasProcessos Psicológicos BásicosTamires Ferreira100% (2)
- GestaltismoDocumento9 páginasGestaltismoYuri Celma100% (1)
- Abib (Cultura e Sensibiidade)Documento12 páginasAbib (Cultura e Sensibiidade)Gabriel Vitor BielAinda não há avaliações
- Ecopercepção Trabalho FlorencyDocumento23 páginasEcopercepção Trabalho FlorencyGnomeira100% (1)
- Modelos ComportamentaisDocumento2 páginasModelos Comportamentaismaurapena1060Ainda não há avaliações
- Prática Extensionista PsicomotricidadeDocumento11 páginasPrática Extensionista PsicomotricidadeMirelly Lopes BeltrameAinda não há avaliações
- Fichamento Percepção - PPB01 - 2ºPDocumento6 páginasFichamento Percepção - PPB01 - 2ºPBianca De Albuquerque LimaAinda não há avaliações
- Perturbações de Aprendizagem e ComportamentoDocumento66 páginasPerturbações de Aprendizagem e ComportamentoAntonio Zanga EusebioAinda não há avaliações
- Sensaçao e PercepçaoDocumento2 páginasSensaçao e Percepçaomaria_pinheiro_11100% (3)
- Sensacao e Intuicao Duas Vertentes Da PercepcaoDocumento24 páginasSensacao e Intuicao Duas Vertentes Da Percepcaoalbertosousapontes13Ainda não há avaliações
- Diferentes Concepções de Meio Ambiente e Suas VisõesDocumento18 páginasDiferentes Concepções de Meio Ambiente e Suas VisõesAlessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- TCC - Aula 1Documento39 páginasTCC - Aula 1jadamaria10100% (1)
- Quais São Os Processos Psicológicos Funções Mentais Como Sensação, Percepção, Atenção, Memória, Pensamento, Linguagem, Motivação, Aprendizado e EtcDocumento59 páginasQuais São Os Processos Psicológicos Funções Mentais Como Sensação, Percepção, Atenção, Memória, Pensamento, Linguagem, Motivação, Aprendizado e EtcPaulo TeixeiraAinda não há avaliações
- Byington - Simbolos e Funcoes EstruturantesDocumento14 páginasByington - Simbolos e Funcoes EstruturantesDiogo Mendonça100% (1)
- Estimulos Sensoriais e Neurociencia - 20102012Documento15 páginasEstimulos Sensoriais e Neurociencia - 20102012richardson santos100% (1)
- Sensacao e PercepcaoDocumento57 páginasSensacao e PercepcaoRodolfo Silvano RamosAinda não há avaliações
- Percepção e AtençãoDocumento115 páginasPercepção e AtençãoPauloAinda não há avaliações
- Aula - JungDocumento4 páginasAula - JungAna Paula BarretoAinda não há avaliações
- Trabalho de PsicologiaDocumento21 páginasTrabalho de PsicologiavanopicsartAinda não há avaliações
- Sensação, Percepção e Consciência .2023Documento23 páginasSensação, Percepção e Consciência .2023virgilioAinda não há avaliações
- APOSTILA 01 - Processos Psicologicos Basicos 1 - SENSAÇÃODocumento6 páginasAPOSTILA 01 - Processos Psicologicos Basicos 1 - SENSAÇÃOBeto FerreiraAinda não há avaliações
- EMOÇÃODocumento17 páginasEMOÇÃOmessiasmoniz2023Ainda não há avaliações
- Ritmo Movimento e Psicomotricidade - para SubmicaoDocumento4 páginasRitmo Movimento e Psicomotricidade - para SubmicaoMariana AbreuAinda não há avaliações
- Sensação e PercepçãoDocumento4 páginasSensação e PercepçãoVitor Ayres FernandesAinda não há avaliações
- TEORIA DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL - ApostilaDocumento7 páginasTEORIA DE INTEGRAÇÃO SENSORIAL - ApostilaBia RezendeAinda não há avaliações
- AmostraDocumento10 páginasAmostrarute.machadoAinda não há avaliações
- Rubinstein, S. L. - Reflexões Sobre A PsicologiaDocumento11 páginasRubinstein, S. L. - Reflexões Sobre A PsicologiaGianpedro FogagnoliAinda não há avaliações
- 3324-Manuscrito Original-8000-1-10-20131216 PDFDocumento8 páginas3324-Manuscrito Original-8000-1-10-20131216 PDFGloriaAinda não há avaliações
- Corpo e Emoção - O Estímulo Proprioceptivo Como Alavanca para As Emoções - José Tomaz de AquinoDocumento6 páginasCorpo e Emoção - O Estímulo Proprioceptivo Como Alavanca para As Emoções - José Tomaz de AquinoVitoria Alves CordeiroAinda não há avaliações
- 2 - Memórias e Emoções para Construção Da Linguagem VisualDocumento6 páginas2 - Memórias e Emoções para Construção Da Linguagem Visualonasis2005Ainda não há avaliações
- Aula 3 Teorias Das Emoções - PP IIDocumento36 páginasAula 3 Teorias Das Emoções - PP IIMarcos MeloAinda não há avaliações
- Slides PPBDocumento8 páginasSlides PPBAléxia VegaAinda não há avaliações
- Fenômenos Psicológicos Básicos, o Que SãoDocumento4 páginasFenômenos Psicológicos Básicos, o Que SãogabsunimaAinda não há avaliações
- A Consciência (Re) SentidaDocumento11 páginasA Consciência (Re) SentidaLeandro de Moraes OliveiraAinda não há avaliações
- PPA Aula T1 230928 221845Documento25 páginasPPA Aula T1 230928 221845Ana Paula LimaAinda não há avaliações
- Emocoes e MovimentosDocumento6 páginasEmocoes e Movimentosrodrigo.ol.lima89Ainda não há avaliações
- Trabalho Professora TassianeDocumento5 páginasTrabalho Professora TassianeIsabel Souza CastroAinda não há avaliações
- 2º Sem - Fenomenos e ProcessosDocumento6 páginas2º Sem - Fenomenos e Processosmaisefarias4Ainda não há avaliações
- Behaviorismo Metodologico Behaviorismo RadicalDocumento7 páginasBehaviorismo Metodologico Behaviorismo RadicalSérgio P. S. ZulianAinda não há avaliações
- Modelo de Portfólio ExemploDocumento12 páginasModelo de Portfólio ExemploRaimundo Ribeiro MachadoAinda não há avaliações
- 10 - Neuroses e PsicosesDocumento53 páginas10 - Neuroses e PsicosesDivino Henrique SantanaAinda não há avaliações
- Behaviorismo Metodológico e Behaviorismo Radical - Blog Da Psicologia Da EducaçãoDocumento13 páginasBehaviorismo Metodológico e Behaviorismo Radical - Blog Da Psicologia Da EducaçãoyohanasittaAinda não há avaliações
- Aula 2 de TEP4Documento22 páginasAula 2 de TEP4Joao CancioAinda não há avaliações
- Percepção Social de Lucia UPDocumento9 páginasPercepção Social de Lucia UPFernando Ribeiro Júnior100% (1)
- GANDOLFO Luciana Eutonia A Percepcao Da Variacao Do TonusDocumento13 páginasGANDOLFO Luciana Eutonia A Percepcao Da Variacao Do TonusEduado GaloAinda não há avaliações
- Teoria Da Percepção No Behaviorismo RadicalDocumento9 páginasTeoria Da Percepção No Behaviorismo RadicalDenilson PaixãoAinda não há avaliações
- Analise IntrusivaDocumento7 páginasAnalise IntrusivaGerson MunguambeAinda não há avaliações
- Humanismo e Brahviorismo B. F. Skinner. With Cover Page v2Documento7 páginasHumanismo e Brahviorismo B. F. Skinner. With Cover Page v2Patricia TellesAinda não há avaliações
- Funespsquicas1 141218071120 Conversion Gate01Documento47 páginasFunespsquicas1 141218071120 Conversion Gate01Catarina FontenelleAinda não há avaliações
- NeurocienciaDocumento13 páginasNeurocienciajeferson100% (1)
- Fichamento Processo Psicológicos II Unidade IDocumento5 páginasFichamento Processo Psicológicos II Unidade IPaulo RodriguesAinda não há avaliações
- EsferaaemocionalDocumento12 páginasEsferaaemocionalJacob CuambaAinda não há avaliações
- Psi Como Tri CidadeDocumento132 páginasPsi Como Tri CidadeAna Paula OliveiraAinda não há avaliações
- 4 - Texto - A Percepcao e A Comunicacao No Ambiente OrganizacionalDocumento12 páginas4 - Texto - A Percepcao e A Comunicacao No Ambiente OrganizacionalMariana CristinaAinda não há avaliações
- UntitledDocumento10 páginasUntitledMarianna Carmona PessoaAinda não há avaliações
- O Paciente, o Terapeuta e o Estado - Elisabeth Roudinesco (1) - 48-61Documento14 páginasO Paciente, o Terapeuta e o Estado - Elisabeth Roudinesco (1) - 48-61Rafaela OliveiraAinda não há avaliações
- Interpretação de TextoDocumento2 páginasInterpretação de TextoNeucir Rodrigues Da MataAinda não há avaliações
- E Book Microrganismos - 1Documento40 páginasE Book Microrganismos - 1Claunita AlvesAinda não há avaliações
- Micro-Plano de Transporte Provincia: - DistritoDocumento7 páginasMicro-Plano de Transporte Provincia: - DistritoEduardo CussaiaAinda não há avaliações
- SEMIOLOGIA DA LÍNGUA - Agosto 2021Documento142 páginasSEMIOLOGIA DA LÍNGUA - Agosto 2021farmaceutica ExactaAinda não há avaliações
- Atividade 5 2023-2 EndócrinoDocumento2 páginasAtividade 5 2023-2 EndócrinoAna LauraAinda não há avaliações
- Good - and - Bad - Practices PV Manual Traduzido OkDocumento113 páginasGood - and - Bad - Practices PV Manual Traduzido OkCONSULT-ELE MEC GIF-SESCAinda não há avaliações
- A Novella Semanal, Anno 1, N. 06, 04 Jun. 1921Documento21 páginasA Novella Semanal, Anno 1, N. 06, 04 Jun. 1921flaviomoraesjrAinda não há avaliações
- Apresentaçao Correntes Curto CircuitoDocumento34 páginasApresentaçao Correntes Curto CircuitoJosé Claudio GuimarãesAinda não há avaliações
- PROPRIEDADES DE FLEXÃO ESTÁTICA DA MADEIRA DE Carya Illinoinensis EM DUAS CONDIÇÕES DE UMIDADEDocumento10 páginasPROPRIEDADES DE FLEXÃO ESTÁTICA DA MADEIRA DE Carya Illinoinensis EM DUAS CONDIÇÕES DE UMIDADEvigibinAinda não há avaliações
- Blindagem Nas UnhasDocumento6 páginasBlindagem Nas Unhaspjr8c292r5Ainda não há avaliações
- Extracao DNA MorangoDocumento4 páginasExtracao DNA MorangoJosé AzincourtAinda não há avaliações
- Atividade Pós-AulaDocumento3 páginasAtividade Pós-AulaVanessa Santos CostaAinda não há avaliações
- Cura Gay - Ciencia e FéDocumento75 páginasCura Gay - Ciencia e FéDana HooperAinda não há avaliações
- Princípios Básicos de Toxicologia Parte 1Documento11 páginasPrincípios Básicos de Toxicologia Parte 1GermanomartinsAinda não há avaliações
- Como Se Proteger Dos Perigos VirtuaisDocumento12 páginasComo Se Proteger Dos Perigos VirtuaisMilena GroetaresAinda não há avaliações
- Pi Ad AsDocumento20 páginasPi Ad Asapi-3706136Ainda não há avaliações
- ResumoDocumento5 páginasResumoLukas AraújoAinda não há avaliações
- 03-24 - Manejo Do EstresseDocumento13 páginas03-24 - Manejo Do EstresseMarcia NascimentoAinda não há avaliações
- DOBRODocumento3 páginasDOBROClaudia CarvalhoAinda não há avaliações
- Texto - Carta Da Água - 2070Documento2 páginasTexto - Carta Da Água - 2070barra1000100% (4)
- Mapa Mental Da Agricultura Intensiva e Extensiva No BrasilDocumento14 páginasMapa Mental Da Agricultura Intensiva e Extensiva No BrasilLucas S. Cardoso SAT-ICCHAAinda não há avaliações
- Ordem de Serviço MOTOSSERRADocumento4 páginasOrdem de Serviço MOTOSSERRAAna Paula Amaral67% (3)
- Reino Fungi - PHDocumento35 páginasReino Fungi - PHPaulo HenriqueAinda não há avaliações
- Material Da Monitoria de AnatomiaDocumento18 páginasMaterial Da Monitoria de Anatomiamatheuspatos1998Ainda não há avaliações
- Aminoacidos Felinos (Gatos)Documento11 páginasAminoacidos Felinos (Gatos)GUILHERME SOUTO DE SOUSAAinda não há avaliações