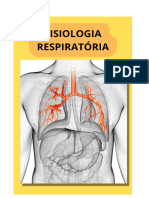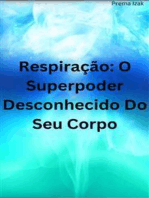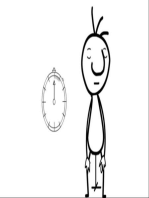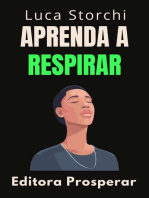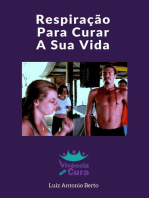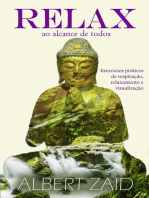Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Aspectos Emissao
Aspectos Emissao
Enviado por
JuniorDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Você também pode gostar
- Fisiologia RespiratóriaDocumento15 páginasFisiologia RespiratóriaThiago Rial100% (2)
- Baby SharkDocumento9 páginasBaby SharkJara Patricia CarolinaAinda não há avaliações
- Avaliação Diagnóstica 2013 - Língua Portuguesa - 4º AnoDocumento8 páginasAvaliação Diagnóstica 2013 - Língua Portuguesa - 4º AnoSibele Santos100% (1)
- Ficha de Avaliação FacialDocumento18 páginasFicha de Avaliação FacialDayane Santos33% (3)
- Aula 7 - Adaptações Respiratórias Ao Exercício FísicoDocumento18 páginasAula 7 - Adaptações Respiratórias Ao Exercício FísicoTatianaAinda não há avaliações
- Miller, Richard. A Estrutura Do Canto - Apêndice 2.Documento2 páginasMiller, Richard. A Estrutura Do Canto - Apêndice 2.JoãoBoscoAinda não há avaliações
- Método para Flauta RubankDocumento40 páginasMétodo para Flauta RubankFlávio Tiago Solai100% (1)
- Respiração Instrumentos de SoproDocumento6 páginasRespiração Instrumentos de SoproMarcos arruda100% (1)
- Técnica Vocal - MétodoDocumento24 páginasTécnica Vocal - MétodoGleidson Jordan100% (1)
- Jane Fajans. Seria A Moqueca Apenas Uma Peixada. In: Brazilian Food: Race, Class and Identity in Regional CuisinesDocumento11 páginasJane Fajans. Seria A Moqueca Apenas Uma Peixada. In: Brazilian Food: Race, Class and Identity in Regional CuisinesBolivar Marini100% (1)
- Exemplo de Referencial TeoricoDocumento6 páginasExemplo de Referencial TeoricodtybelAinda não há avaliações
- Análise Biofísica Do Sistema (Biofísica Da Respiração)Documento22 páginasAnálise Biofísica Do Sistema (Biofísica Da Respiração)Klleber HenriqueAinda não há avaliações
- Músculos Da RespiraçãoDocumento1 páginaMúsculos Da RespiraçãoHenrique MedeirosAinda não há avaliações
- Sistema RespiratórioDocumento11 páginasSistema RespiratórioJBMASTERAinda não há avaliações
- Ventilação PulmonarDocumento10 páginasVentilação Pulmonaradrielly.ribsAinda não há avaliações
- Roteiro Sistema Respiratório Ii: Mecânica Da RespiraçãoDocumento4 páginasRoteiro Sistema Respiratório Ii: Mecânica Da RespiraçãoMaria CoelhoAinda não há avaliações
- Produção Da Fala - Marchal e ReisDocumento120 páginasProdução Da Fala - Marchal e ReisJoão Pedro LagesAinda não há avaliações
- Respiração SumárioTeóricoDocumento13 páginasRespiração SumárioTeóricoAntonio Herci Ferreira JuniorAinda não há avaliações
- Tutorial 06Documento6 páginasTutorial 06João Felipe PinheiroAinda não há avaliações
- Propriedades Mecânicas Dos PulmõesDocumento12 páginasPropriedades Mecânicas Dos PulmõesHeraldo MaiaAinda não há avaliações
- Relatório 03 - Módulo 3 - ChalkidisDocumento9 páginasRelatório 03 - Módulo 3 - ChalkidisElizandraBiáAinda não há avaliações
- Apresentação RespiratóriaDocumento4 páginasApresentação Respiratórialahislateles.comAinda não há avaliações
- Trabalho - Optativa FisiologiaDocumento6 páginasTrabalho - Optativa FisiologiaLuiza MoraesAinda não há avaliações
- Estudo Da Respiração em Técnica VocalDocumento15 páginasEstudo Da Respiração em Técnica VocalRamon CarneiroAinda não há avaliações
- Apostila de RespiraçãoDocumento14 páginasApostila de RespiraçãoCleusa TorresAinda não há avaliações
- Problema 5 - Respirar É ViverDocumento7 páginasProblema 5 - Respirar É ViverMiguel PereiraAinda não há avaliações
- Respiração TrompeteDocumento4 páginasRespiração TrompeteJosé Alves AlvesAinda não há avaliações
- Resumo - Fisiologia - Ventilação PulmonarDocumento3 páginasResumo - Fisiologia - Ventilação PulmonarYuri SoaresAinda não há avaliações
- 043 Musculos Da Respiracao 2Documento6 páginas043 Musculos Da Respiracao 2IagoFernandesAinda não há avaliações
- Respiratorio 1 e 2Documento14 páginasRespiratorio 1 e 2Dádiva Lukeba AndréAinda não há avaliações
- Fisiologia Respiratória PDFDocumento14 páginasFisiologia Respiratória PDFAlineCruzAinda não há avaliações
- Fisiologia Do Sistema RespiratórioDocumento26 páginasFisiologia Do Sistema RespiratórioJoselito SousaAinda não há avaliações
- Capítulo 38 Guyton - Nelito SangulaDocumento11 páginasCapítulo 38 Guyton - Nelito SangulaNelito SangulaAinda não há avaliações
- Aula 8Documento44 páginasAula 8benjaminbrazalvesAinda não há avaliações
- Relatório MecanicaRespiratoriaDocumento10 páginasRelatório MecanicaRespiratoriaMaria Clara GomesAinda não há avaliações
- Fisiologia RespiratóriaDocumento8 páginasFisiologia RespiratóriaGeovana OliveiraAinda não há avaliações
- A Importância Da RespiraçãoDocumento9 páginasA Importância Da RespiraçãoFreneck OliverAinda não há avaliações
- Apoio RespiratórioDocumento5 páginasApoio RespiratórioWilkerson CastroAinda não há avaliações
- Tutoria VentilaçaoDocumento3 páginasTutoria VentilaçaoJoão OlintoAinda não há avaliações
- 34203-Texto Do Artigo-121975-1-10-20060527Documento5 páginas34203-Texto Do Artigo-121975-1-10-20060527Miguel PinheiroAinda não há avaliações
- FisiologiaDocumento12 páginasFisiologiaLuana AraujoAinda não há avaliações
- Movimentos RespiratóriosDocumento2 páginasMovimentos RespiratóriosIsabelaAinda não há avaliações
- Movimentos RespiratoriosDocumento2 páginasMovimentos RespiratoriosMiguel AlmeidaAinda não há avaliações
- File 1997Documento9 páginasFile 1997Marco NalinAinda não há avaliações
- Formatar O Capítulo Sobre Respiração Aborda Detalhadamente Os Aspectos Fundamentais Desse Processo Essencial para o CantoDocumento6 páginasFormatar O Capítulo Sobre Respiração Aborda Detalhadamente Os Aspectos Fundamentais Desse Processo Essencial para o CantoelisangelaifcemusicaAinda não há avaliações
- A Respiração Na CorridaDocumento14 páginasA Respiração Na CorridaamjcarvalhoAinda não há avaliações
- Fisiologia Do Aparelho RespiratórioDocumento7 páginasFisiologia Do Aparelho RespiratórioKarumbyAinda não há avaliações
- Músculos Principais e Acessórios Da RespiraçãoDocumento14 páginasMúsculos Principais e Acessórios Da RespiraçãoJhon AraujoAinda não há avaliações
- Experimento Pulmão ArtificialDocumento2 páginasExperimento Pulmão ArtificialMonique Meireles PereiraAinda não há avaliações
- A Respiração Sua ImportanciaDocumento4 páginasA Respiração Sua ImportanciajordandorrAinda não há avaliações
- Ginástica respiratória (Traduzido): Purificação - Saúde - Força - EnergiaNo EverandGinástica respiratória (Traduzido): Purificação - Saúde - Força - EnergiaAinda não há avaliações
- Aprenda A Respirar Melhor - Aprenda Técnicas De Respiração Para Melhorar A Sua Saúde E Bem-Estar: Coleção Vida Equilibrada, #52No EverandAprenda A Respirar Melhor - Aprenda Técnicas De Respiração Para Melhorar A Sua Saúde E Bem-Estar: Coleção Vida Equilibrada, #52Ainda não há avaliações
- Relax ao alcance de todos: Exercícios práticos de respiração, relaxamento, e visualizaçãoNo EverandRelax ao alcance de todos: Exercícios práticos de respiração, relaxamento, e visualizaçãoAinda não há avaliações
- Resumo Estendido - O Poder Curativo Do Nervo Vago (Accessing The Healing Power Of The Vagus Nerve) - Baseado No Livro De Stanley RosenbergNo EverandResumo Estendido - O Poder Curativo Do Nervo Vago (Accessing The Healing Power Of The Vagus Nerve) - Baseado No Livro De Stanley RosenbergAinda não há avaliações
- Manual de Fisioterapia Respiratória com Ênfase em UTI e Covid-19No EverandManual de Fisioterapia Respiratória com Ênfase em UTI e Covid-19Ainda não há avaliações
- Semiologia AcupunturaDocumento18 páginasSemiologia AcupunturaBeto RodriguesAinda não há avaliações
- Como Comer Depois de Apertar Ou Colocar Aparelho FixoDocumento8 páginasComo Comer Depois de Apertar Ou Colocar Aparelho FixoRoseli MottaAinda não há avaliações
- Capítulo XXDocumento16 páginasCapítulo XXPatríciaOliveira100% (1)
- 23.03 e 30.03 - Noções de Primeiros Socorros - Rosana e Thaís - 1 PDFDocumento101 páginas23.03 e 30.03 - Noções de Primeiros Socorros - Rosana e Thaís - 1 PDFcaroliju2034140Ainda não há avaliações
- Embriologia Dos RepteisDocumento37 páginasEmbriologia Dos Repteisluiz felipe pereira mendes100% (1)
- Relatorio de Cirurgia - Modelo TotalDocumento7 páginasRelatorio de Cirurgia - Modelo TotalJoão CottaAinda não há avaliações
- Amostra PDFDocumento15 páginasAmostra PDFLone Wolf Sama enterteinmentTMAinda não há avaliações
- Parte 8Documento44 páginasParte 8Helena LeiteAinda não há avaliações
- Articulações PDFDocumento23 páginasArticulações PDFrodrigoAinda não há avaliações
- RCP Pediatrico - Ana Elida e Nilcyeli AragaoDocumento18 páginasRCP Pediatrico - Ana Elida e Nilcyeli AragaofalaulissesAinda não há avaliações
- Anatomia Do Sistema Genital Feminini LangeDocumento37 páginasAnatomia Do Sistema Genital Feminini LangeMayara AndriellyAinda não há avaliações
- Alguns Epigramas de MarcialDocumento2 páginasAlguns Epigramas de MarcialCharlene Miotti100% (1)
- Exercícios Gramática 3 PEdit - Sandra BarrosoDocumento74 páginasExercícios Gramática 3 PEdit - Sandra BarrosoJoana Costa Pinto100% (3)
- Aumento de Pênis e Correção de CurvaturaDocumento12 páginasAumento de Pênis e Correção de CurvaturaMarlos DadonasAinda não há avaliações
- Meditação Atenciosa de Deepak ChopraDocumento10 páginasMeditação Atenciosa de Deepak ChopraMarAinda não há avaliações
- Crânio e FaceDocumento78 páginasCrânio e FaceEmerson AlvesAinda não há avaliações
- Sistema RespiratórioDocumento13 páginasSistema RespiratórioEduardoAinda não há avaliações
- Alimenta Teatro - DentinhoDocumento3 páginasAlimenta Teatro - Dentinhoanabela_pinho3575100% (1)
- NeuroanatomiaDocumento152 páginasNeuroanatomiaEdna Luiza Ferreira Giudice100% (2)
- Aventura de Cthulhu 2d6 Heranc3a7a MalditaDocumento8 páginasAventura de Cthulhu 2d6 Heranc3a7a MalditaHenrique Angelus GuimaraesAinda não há avaliações
- CabeloDocumento6 páginasCabeloritadias4Ainda não há avaliações
- Incensos Campeões de VendaDocumento3 páginasIncensos Campeões de VendaAna EncarnacaoAinda não há avaliações
- Introduçao A Fisiologia e Homeostasia 1Documento44 páginasIntroduçao A Fisiologia e Homeostasia 1Cristiano LimaAinda não há avaliações
- 3 Obst. Vet. Fisiologia Do PartoDocumento37 páginas3 Obst. Vet. Fisiologia Do PartolfdcjeepAinda não há avaliações
- Dinâmica para CriançasDocumento76 páginasDinâmica para CriançasProfessora Carla MachadoAinda não há avaliações
Aspectos Emissao
Aspectos Emissao
Enviado por
JuniorTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Aspectos Emissao
Aspectos Emissao
Enviado por
JuniorDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Aspectos fsicos da emisso sonora.
A embocadura e a respirao na qualidade do som.
por Svio Arajo
Professor de Flauta DM/IA/UNICAMP
CONSIDERAO TCNICA PARA EXECUO MUSICAL
Para a realizao musical, como para todas as outras manifestaes
artsticas, a abordagem de diversos elementos, simultaneamente, se faz necessria
para que se possa atingir o ponto mximo de expresso dessa arte. Para o msico,
no incomum o fato de ele ter que associar elementos do teatro, da dana, at
mesmo imagens em sua performance, com o objetivo de ressaltar suas qualidades e
projetar sua arte.
A execuo de um instrumento musical, seja ele de que famlia for, envolve
diferentes abordagens tcnicas para se conseguir os resultados desejados. No caso
da produo do som em especial, diferentes meios so usados, dependendo do
instrumento. Por exemplo, nos instrumentos de cordas, o executante faz uso de um
arco; este, ao ser friccionado contra a corda do instrumento, coloca-a em vibrao.
Este evento depende da relao entre a velocidade e a presso do arco sobre a
corda. Com os instrumentos de sopro, a produo do som d-se a partir do
momento em que uma coluna de ar, dentro de um tubo, colocada em movimento
atravs da emisso de ar por parte do executante.
No caso dos instrumentistas de cordas, a habilidade a ser desenvolvida para
se obter o controle do movimento do arco, est relacionada com a capacidade do
instrumentista de colocar em ao uma srie de elementos que combinam os
movimentos do brao (msculos posteriores), do antebrao, a rotao do cotovelo,
movimentos do pulso, alm da correta utilizao dos dedos polegar, indicador e
mnimo. J para os instrumentistas de sopro, dentre as qualidades e habilidades
tcnicas necessrias para uma correta produo do som, a mais importante, sem
dvida, o controle da respirao. Este controle exerce uma importante ao no
padro de respirao desenvolvido pelo instrumentista. Este padro constitui-se de
uma inspirao curta seguida de uma expirao prolongada, que no s
dependente da presso e do fluxo de ar exigidos pelo instrumento, mas tambm
depende da necessidade de ventilao dos pulmes.
Alm da habilidade de controlar voluntariamente a respirao dentro de um
padro definido, o instrumentista deve desenvolver uma significativa capacidade
pulmonar.
Esta grande capacidade pulmonar importante porque, se o
instrumentista consegue trabalhar suas necessidades respiratrias a partir da poro
mdia de sua capacidade pulmonar, prximo ao ponto de equilbrio entre as foras
que comandam seu sistema respiratrio, este msico ter um desempenho tcnicomusical mais aprimorado, com menor esforo e com maior naturalidade na emisso
Copyright 2000 by Svio Arajo. All rights reserved.
Aspectos fsicos da emisso sonora.
da coluna de ar, se comparado queles que no tem esta capacidade desenvolvida.
Segundo D. W. Stauffer (1968), a ao muscular ocorre com maior intensidade na
poro mdia de sua esfera de ao e no nos extremos da contrao ou
relaxamento.
este o elemento principal deste tema: o controle voluntrio sobre a
respirao para a emisso da coluna de ar na produo do som.
Antes de prosseguirmos com a apresentao do objeto de estudo deste
projeto, faz-se necessrio alguns esclarecimentos sobre o funcionamento do
aparelho respiratrio. O estudo do professor Johan Sundberg, The Science of the
Singing Voice ser a base de referncia para estes esclarecimentos.
FUNCIONAMENTO DO APARELHO RESPIRATRIO
Para podermos comear a pensar e considerar a maneira pela qual o sistema
respiratrio funciona, precisamos inicialmente considerar o que realmente presso.
Por presso, segundo definio do termo, entendemos o ato de comprimir ou
apertar; fisicamente, significa a atuao de uma fora constante sobre uma
determinada superfcie. Consideremos o caso de um balo de borracha. Se um gs
como o ar for comprimido dentro de um balo, a presso no interior deste
aumentar. Esta presso exercer uma fora na superfcie do balo, fazendo-o
expandir. Ao darmos vazo ao ar atravs da abertura do balo, a presso interna
expelir o ar de seu interior; e este fluxo de ar ser to forte e duradouro enquanto a
presso dentro do balo for elevada.
Esta considerao nos mostra um caso onde a presso interna maior do
que a presso atmosfrica. H casos onde essa presso pode ser menor do que a
presso atmosfrica: se succionamos o ar de dentro de um recipiente de paredes
rgidas, a presso dentro desde recipiente reduzida e uma presso negativa
gerada; ao abrirmos o recipiente, o ar entrar dentro do mesmo a uma razo que
proporcional esta presso negativa.
Para se tocar um instrumento de sopro, ou mesmo no canto ou na fala, o que
se requer do aparelho respiratrio que este gere uma certa presso no ar contido
nos pulmes. Esta presso obtida atravs da contrao de alguns msculos ou
grupo de msculos que expandem ou comprimem os pulmes.
Os pulmes constituem-se de uma estrutura
esponjosa e que est sempre em processo de encolhimento
dentro da caixa torcica. Se retirssemos os pulmes do
corpo e suspendessemos ao ar livre, eles iriam encolher
drasticamente. No entanto, dentro da caixa torcica, isto
no ocorre devido ao vcuo que os circunda. Quando
cheios, os pulmes tentam expelir o ar com uma certa fora
que determinada pelo volume de ar em seu interior. Isto
significa que os pulmes uma estrutura elstica
Copyright 2000 by Svio Arajo. All rights reserved.
Aspectos fsicos da emisso sonora.
semelhante a um balo de borracha exercem uma fora expiratria inteiramente
passiva que aumenta de acordo com a quantidade de ar inspirada.
Outro sistema elstico que tem importante participao na gerao da
presso do ar a caixa torcica, com dois importantes grupos musculares que
comprimem e expandem os pulmes: os dois msculos que unem as costelas,
chamados msculos intercostais, e os msculos da parede abdominal e o diafragma.
Os msculos intercostais so de dois tipos:
os intercostais inspiratrios e os intercostais
expiratrios. Atravs da contrao dos msculos
intercostais inspiratrios, o volume da caixa
torcica aumentado; estes so os msculos
usados numa respirao normal. Quando esta
atividade dos intercostais inspiratrios cessa, a
caixa torcica tende a retornar a seu estado inicial
(de volume no expandido), gerando uma fora
expiratria passiva, no muscular. Por outro lado,
os msculos intercostais expiratrios tem por
funo a diminuio do volume da caixa torcica;
se os usarmos para a expirao, produzimos uma fora inspiratria passiva.
Um msculo muito importante na respirao
o diafragma quando relaxado, tem um formato
parecido com o de uma tigela invertida, com suas
bordas inseridas na parte de baixo da caixa
torcica. Quando o diafragma contrai, sua forma,
ento, passa a ser plana, como a de um prato.
Desta maneira, a base da caixa torcica
rebaixada, fazendo com que seu volume aumente e,
consequentemente, permita a expanso do volume
dos pulmes. Esta ao do diafragma faz com que a presso nos pulmes decaia,
permitindo assim que um fluxo de ar penetre nos pulmes, desde que as vias areas
estejam livres. Como todo este evento acontece devido contrao do diafragma,
conclui-se que o diafragma um msculo especfico da inspirao.
Atravs de sua contrao, o diafragma pressiona o
contedo abdominal para baixo, o que, por sua vez,
empurra a parede abdominal para fora. No entanto, o
diafragma s poder voltar a sua posio original (relaxado)
atravs da ao dos msculos da parede abdominal. Com
a contrao destes msculos, o contedo abdominal
empurrado de volta, para dentro da caixa torcica,
movendo desta forma o diafragma para cima, o que acaba
por provocar a diminuio do volume dos pulmes.
Portanto, podemos concluir que os msculos abdominais
so msculos expiratrios.
Copyright 2000 by Svio Arajo. All rights reserved.
Aspectos fsicos da emisso sonora.
Os msculos abdominais e o diafragma constituem um conjunto de msculos
atravs dos quais podemos inspirar e expirar. O outro grupo de msculos, os
intercostais, podem auxiliar ou at mesmo substituir o diafragma e o abdmen em
suas tarefas respiratrias.
Podemos concluir ento que temos um conjunto de msculos expiratrios
assim como foras elsticas passivas que afetam o volume pulmonar e,
consequentemente, a presso do ar em seu interior. Como vimos, o diafragma e os
msculos da parede abdominal desempenham um papel de extrema importncia no
ato respiratrio, mas a fora passiva de retrao dos pulmes e da caixa torcica
(recoil forces) so tambm relevantes. No entanto, a magnitude desta fora de
retrao depende da quantidade de ar contida nos pulmes, ou do volume pulmonar
(LC).
A atividade muscular exigida para se manter uma presso de ar constante
depende da capacidade pulmonar.
Isto ocorre porque as foras elsticas
desenvolvidas pelos pulmes e pela caixa torcica elevam ou diminuem a presso
dentro dos pulmes, dependendo se o volume pulmonar for maior ou menor do que
o Resduo da Capacidade Funcional (FRC). Este Resduo da Capacidade Funcional
um valor da capacidade pulmonar para o mecanismo respiratrio, onde as foras
elsticas inspiratrias e expiratrias so iguais.
Quando os pulmes esto cheios, com
uma grande quantidade de ar, a fora expiratria
passiva grande; portanto, uma presso
elevada gerada. Entretanto, se esta presso
do ar for demasiadamente alta para a emisso
da coluna de ar desejada, esta pode ser
reduzida atravs de uma contrao dos
msculos inspiratrios. A necessidade desta
interveno por parte dos msculos inspiratrios
diminui a medida que diminui o volume de ar
nos pulmes, sendo ento extinta por completo
num ponto onde o volume de ar est pouco
acima
do
Resduo
da
Capacidade
Funcional (FRC), onde as foras expiratrias
passivas so insuficientes para gerao da presso necessria. Deste ponto em
diante, os msculos expiratrios so ativados e exigidos cada vez mais para que se
possa compensar a crescente fora inspiratria da caixa torcica, que est sendo
mais e mais comprimida.
Segundo experimentos do Dr. Beverly Bishop (1968), durante a execuo de um
instrumento de sopro, assim como no canto ou enquanto estamos rindo, o ajuste
refinado da contrao da musculatura abdominal que ajuda a controlar o fluxo
expiratrio com volumes pulmonares abaixo dos nveis expiratrios normais.
Durante uma respirao normal, a musculatura abdominal est inativa, mas entra
imediatamente em ao quando o volume pulmonar aproxima-se de sua capacidade
mxima durante a inspirao. Com o esvaziamento dos pulmes durante a
expirao, os msculos abdominais esto novamente inativos at que o volume
Copyright 2000 by Svio Arajo. All rights reserved.
Aspectos fsicos da emisso sonora.
pulmonar atinja um nvel abaixo do volume normal de repouso, ou do Resduo da
Capacidade Funcional (FRC); com o prosseguimento da expirao a partir deste
volume e com a conseqente aproximao do nvel residual, a musculatura
abdominal torna-se progressivamente mais ativa at que o esforo expiratrio
interrompido abruptamente.
EXERCCIOS
Inspirao e Expirao
Exerccio 1 (inspirao)
Em posio ereta, inspirar profundamente tanto quanto possvel,
expandindo a caixa torcica atravs da contrao dos msculos
intercostais e da elevao do osso esterno, e tambm da contrao do
diafragma. Expirar todo o ar dos pulmes, relaxando-se todos os
msculos utilizados para a inspirao (expirao passiva) e contraindo
os msculos da parede abdominal.
Exerccio 2 (expirao)
Expirar todo o ar contido nos pulmes, comprimindo a caixa torcica
atravs da ao dos msculos da parede abdominal e dos intercostais.
Inspirar relaxando-se estes msculos (inspirao passiva) e contraindose o diafragma, provocando assim uma expanso da parede
abdominal, que projeta a barriga para baixo e para fora.
Obs: Os exerccios 1 e 2 demonstram as foras elsticas de retrao
do sistema respiratrio, nos momentos de expirao (exerccio 1) e
inspirao (exerccio 2). Essas foras elsticas so geradas com maior
ou menor intensidade dependendo da quantidade de ar nos pulmes,
assim como sua ao depende de uma maior ou menor contrao dos
msculos respiratrios.
Exerccio 3 (expirao controlada)
Inspirar profundamente e expirar vagarosamente todo o ar dos
pulmes. Para tanto, manter os msculos inspiratrios contrados,
relaxando-os gradativamente para se manter um fluxo de ar contnuo.
Copyright 2000 by Svio Arajo. All rights reserved.
Aspectos fsicos da emisso sonora.
Para o xito deste exerccio, necessrio "brecar" a expirao por
meio dos msculos inspiratrios que, mantendo-se contrados, evitam
que o volume torcico decaia rapidamente devido sua prpria fora
elstica de retrao (expirao passiva). Continuando a expirar
vagarosamente, atingiremos um ponto onde a musculatura estar
relaxada. A partir desse ponto, necessitamos "empurrar" o ar para fora
dos pulmes.
Atravs da contrao dos msculos da parede
abdominal, que empurram o diafragma para cima e para dentro da
caixa torcica, fazemos com que o ar seja expelido dos pulmes,
mantendo-se assim a mesma razo de expirao.
Exerccio 4 (inspirao forada).
Em posio ereta, com a boca semi aberta, colocar a mo em posio
vertical e encostar o dedo indicador junto aos lbios. Inspirar
profundamente, como demonstrado no Exerccio 1, provocando uma
suco acompanhada de rudo grave e contnuo. Esta suco dever
ser a mais duradoura possvel, pois enquanto houver suco haver
trabalho muscular para manter a expanso da caixa torcica. Expirar
todo o ar, como visto no Exerccio 2, sem forar, deixando que tanto a
caixa torcica quanto o abdmen retornem sua posio inicial de
repouso.
Obs: A repetio excessiva deste exerccio poder causar sensaes
como tonturas ou nuseas, devido a hiperventilao que provocada
pela troca de gases, que acontece em propores acima dos
parmetros normais, considerando-se uma respirao normal. Na
ocorrncia destas sensaes, interromper o exerccio e sentar,
permanecendo nessa posio at os sintomas cederem e s ento
prosseguir, procurando no forar a suco e sim mant-la
continuamente, mesmo no sendo em intensidade to grande.
Copyright 2000 by Svio Arajo. All rights reserved.
Aspectos fsicos da emisso sonora.
Exerccios com a Bolsa de Ar
Bolsa de Ar.
Modelo brasileiro ( esquerda)
e modelo Alemo ( direita).
Ambos com 5 litros de
capacidade.
Posio correta de utilizao
da bolsa; manter a garganta o
mais relaxado possvel e
soprar ar quente.
Os exerccios com a bolsa de ar tm por objetivo:
a) proporcionar um alto grau de relaxamento ao instrumentista, principalmente em
relao ao relaxamento da garganta e trato vocal;
b) proporcionar um controle visual da emisso da coluna de ar, considerando-se
que o instrumentista poder visualizar o ar entrando na bolsa;
c) delimitar um padro inspiratrio em relao ao volume inspirado, visto que o ar
estar sendo inspirado de dentro da bolsa, independentemente do tempo
(durao) da inspirao.
Exerccio 1
Segurando-se a bolsa de ar na posio horizontal, expirar todo o ar dos
pulmes como no Exerccio 2 (expirao). Inspirar como demonstrado
no Exerccio 4 (inspirao forada) e expirar dentro da bolsa, como no
Exerccio 3 (expirao controlada). Repetir 4 vezes e reiniciar.
Exemplo 1
Copyright 2000 by Svio Arajo. All rights reserved.
Aspectos fsicos da emisso sonora.
Exerccio 2
Mesmo procedimento do Exerccio 1.
Exemplo 2
Exerccio 3 (Exemplos 3, 4, 5 e 6)
Mesmo procedimento do Exerccio 1, mas articulando-se o ar que estse expirando com a lngua, procurando emitir um som grave a partir de
cada articulao. Variar a velocidade conforme os exemplos.
Exemplo 3
Exemplo 4
Exemplo 5
Exemplo 6
Copyright 2000 by Svio Arajo. All rights reserved.
Aspectos fsicos da emisso sonora.
Exerccios com Respirador (Respiron)1
Os exerccios com o Respiron tm por objetivo proporcionar um aumento na fora e
na resistncia dos msculos inspiratrios. O Respiron proporciona uma carga de
presso constante para a inspirao. Essa carga pode ser graduada para aumentar
a dificuldade do exerccio, girando-se o anel regulador. O sistema de variao
contnua, ou seja, todas as posies intermedirias so possveis, proporcionando
dificuldades tambm intermedirias. (Obs: No expirar dentro do aparelho.)
Exerccio 1
Expirar todo o ar dos pulmes. Inspirar atravs do bocal, de
forma que a Esfera 1 seja elevada ao topo do tubo. Manter a
esfera nessa posio at que o volume pulmonar chegue seu
ponto mximo. Expirar.
Exerccio 2
Expirar todo o ar dos pulmes. Inspirar atravs do bocal, de
forma que a Esfera 1 seja elevada ao topo do tubo. Aumentar
o volume de inspirao de forma que a Esfera 2 tambm seja
elevada ao topo do tubo. Manter ambas as esferas nessa
posio at que o volume pulmonar chegue seu ponto
mximo. Expirar.
Exerccio 3
Expirar todo o ar dos pulmes. Inspirar atravs do bocal, de
forma que a Esfera 1 seja elevada ao topo do tubo. Aumentar
o volume de inspirao de forma que a Esfera 2 tambm seja
elevada ao topo do tubo. Aumentar ainda mais o volume de
inspirao para que a Esfera 3 tambm seja elevada ao topo
do tubo. Manter ambas as esferas nessa posio at que o
volume pulmonar chegue seu ponto mximo. Expirar.
NCS Indstria e Comrcio de Aparelhos Hospitalares Ltda. Patente UM 6400897.
Copyright 2000 by Svio Arajo. All rights reserved.
Aspectos fsicos da emisso sonora.
10
Obs: Aps vencidas estas etapas, pode-se aumentar o grau de dificuldade dos
exerccios, girando-se o anel regulador para as posies 1, 2 ou 3. Recomenda-se
tambm realizar os exerccios intercalando-se as posies do anel regulador, de
forma a obter um aumento gradativo do volume de ar inspirado, conforme tabela de
valores aproximados, abaixo.
Posio do
ponteiro
0
1
2
3
Esfera 1
(sobre o anel)
280 cm3/s
380 cm3/s
560 cm3/s
740 cm3/s
Esfera 2
(central)
560 cm3/s
640 cm3/s
820 cm3/s
1000 cm3/s
Copyright 2000 by Svio Arajo. All rights reserved.
Esfera 3
(a direita)
620 cm3/s
680 cm3/s
880 cm3/s
1200 cm3/s
A embocadura e a emisso do som na flauta.
11
A embocadura e a emisso do som na flauta
O som a matria-prima da msica. ele o elemento responsvel pela
conduo de todos os aspectos pertinentes execuo musical at o ouvinte. Da
sensao auditiva criada por este fenmeno, o ouvinte pode perceber e apreciar
toda a expresso de uma frase musical, toda a musicalidade do intrprete e tambm
o contedo do discurso musical de um compositor, elementos estes perpetuados
pelas notas musicais. Atravs de nuanas na sonoridade, o instrumentista capaz
de transmitir estas caractersticas musicais aos ouvintes.
Esta propriedade
especfica do som, que confere maior pureza e riqueza sonoridade, dada pelo
timbre. Este elemento da sonoridade capaz de distinguir sons de mesma altura e
intensidade, que so resultados de uma maior ou menor quantidade de harmnicos
coexistentes ao som fundamental.
Dada a complexidade do som como elemento principal do evento musical,
somente atravs de um controle apurado da emisso da coluna de ar o
instrumentista poder alcanar este nvel de realizao musical.
A produo do som na flauta no somente afetada pelo correto
funcionamento do aparelho respiratrio, mas tambm por uma correta embocadura.
Muitos so os fatores que afetam a produo do som no instrumento, desde
aspectos psicolgicos outros de natureza fsica. Na realidade, nada pode ser
separado, uma vez que todos estes elementos interagem e exercem uma certa
influncia uns nos outros.
As principais funes da embocadura na
flauta so dirigir o fluxo de ar para dentro do
instrumento e controlar seu tamanho e formato,
que so determinados proporcionalmente pelo
tamanho e formatos da embocadura em si. A
embocadura da flauta no consiste apenas na colocao dos lbios no bocal do
instrumento; depende tambm de vrias outras partes da face prximas aos lbios:
o maxilar, os msculos da face, a lngua, o palato, etc. Podemos dizer que uma
embocadura correta aquela que no modifica a aparncia de nosso rosto,
mantendo-o em sua forma natural e relaxada. Por ser a flauta um instrumento de
embocadura livre, no introduzimos nenhuma parte do instrumento entre os lbios,
como nos casos do obo, da clarineta ou o fagote, entre outros, que, por meio de
palhetas ou boquilhas, fazem com que o ar seja dirigido diretamente dentro do
instrumento.
Copyright 2000 by Svio Arajo. All rights reserved.
A embocadura e a emisso do som na flauta.
12
A razo pela qual devemos sempre manter nossa embocadura relaxada que
necessitamos de flexibilidade nos lbios para produzir grandes saltos e mudanas
de registro, bem como para promover alteraes no timbre e correes na afinao.
Alm disso, tal relaxamento inibe a fadiga dos msculos da face, o que nos permite
tocar por horas seguidas. No entanto, essa posio relaxada da face no deve
interferir no trabalho dos msculos que devero entrar em ao para formar o orifcio
da embocadura, ou o espao entre os lbios por onde ser emitida a coluna de ar.
Toda a tcnica de respirao do instrumentista depende do controle da abertura dos
lbios, assim como o consumo de ar: frases longas tornam-se impossveis de serem
executadas com um orifcio muito largo, alm de colaborar para uma grande
diferena de volume e qualidade do som entre os registros graves e agudos.
No captulo sobre o Funcionamento do Aparelho Respiratrio vimos que
presso significa a atuao de uma fora constante sobre uma determinada
superfcie. Diferentemente de outros instrumentos de sopro que utilizam bocais
diretamente nos lbios, ou palhetas e boquilhas inseridas entre os lbios e que por si
s determinam a vazo e, consequentemente, a presso da coluna de ar, os
flautistas dependem exclusivamente de seus lbios para estabelecer esta
propriedade. Como podemos utilizar diferentes formatos e tamanhos para o orifcio
da embocadura, podemos, portanto, estabelecer diferentes tamanhos da coluna de
ar, assim como podemos ter diferenas significativas em sua velocidade. Estes dois
ltimos parmetros so os principais para se produzir as nuanas de sonoridade,
fundamentais para se ter uma execuo expressiva no instrumento.2
Uma outra caracterstica da flauta e que afetada especificamente pela
embocadura diz respeito freqncia do som.
Esta aumenta (sobe)
proporcionalmente ao aumento da presso da coluna de ar e, consequentemente,
diminui (abaixa) na mesma razo da diminuio dessa presso. Portanto, se
utilizarmos as tcnicas de respirao para produzirmos uma presso de ar constante
dentro dos pulmes, bastar ao instrumentista desenvolver a habilidade de
aumentar e diminuir a abertura do orifcio entre os lbios para gerar a presso
necessria na coluna de ar para as diferentes notas da tessitura do instrumento.
Entretanto, como a alterao do tamanho do orifcio tambm altera o tamanho da
coluna de ar, faz-se necessrio uma atuao conjunta dos lbios e do aparelho
respiratrio para gerar as diferentes presses sem alterar a qualidade do som.
Outra questo importante
na produo do som, e que tem
efeito direto em sua qualidade,
quanto poro do bocal que
deve ser coberta pelo lbio
inferior. impossvel especificar
2
Estas afirmaes podem ser comprovadas pelos princpios fundamentais estabelecidos por
Theobald Boehm em seu The Flute and Flute Playing. Segundo Boehm, 1) a fora, assim como, a
densidade e clareza de uma nota fundamental proporcional ao volume de ar colocado em
movimento; 2) as vibraes podem ser efetuadas atravs de uma simples contrao da embocadura;
e 3) toda e qualquer alterao no tamanho da coluna de ar tem uma grande influncia na emisso e
afinao das notas. Em 1847, Theobald Boehm concluiu que o tubo cnico da flauta no se adaptava
estes princpios e desenvolveu um novo modelo, com tubo cilndrico, por este apresentar um maior
equilbrio e perfeio para a coluna de ar em vibrao.
Copyright 2000 by Svio Arajo. All rights reserved.
A embocadura e a emisso do som na flauta.
13
quanto o bocal deve ser coberto, uma vez que cada flauta possui uma caracterstica
diferente, com bocais de tamanhos e formatos diferentes. Podemos somente
afirmar que no devemos cobrir demasiadamente o bocal pois isso causaria um som
de pouca densidade e sem projeo. Como regra geral, poderamos cobrir 1/3 do
bocal para as notas mais graves e chegar a pouco mais da metade do bocal sendo
coberto pelo lbio para as notas mais agudas (conforme ilustrao).
Esta
observao de extrema importncia pois o posicionamento incorreto do lbio no
bocal pode prejudicar no s a emisso do som, a intensidade e o timbre, mas
tambm a afinao dos intervalos. Alm disso, a partir da correta posio do lbio
em relao ao bocal que o instrumentista pode realizar uma das tarefas mais difceis
no que diz respeito produo do som e sua expressividade.
Conforme vimos, a presso da
coluna de ar est diretamente
relacionada afinao de uma
determinada nota e tambm sua
intensidade. E, no caso da flauta, essa
uma grandeza proporcional, ou seja,
quanto maior a presso na coluna de ar,
mais intenso e mais agudo o som e
vice-versa.
Considerando-se esta
propriedade e levando-se em conta uma
particularidade do instrumento no que
diz respeito sua construo, nos deparamos com um grave problema. A flauta, de
maneira geral, tem uma grande tendncia de ter suas notas agudas muito altas em
relao freqncia desejada e, em contrapartida, suas notas mais graves tm
tendncia de serem mais baixas. Alm disso, algumas notas em particular tm
tendncias opostas em relao tessitura em que esto: ou seja, podemos ter uma
determinada nota na regio aguda e que soar baixa; e o oposto tambm acontece
com notas dos registros mdio e grave.
Com a correta colocao do lbio sobre o bocal,
podemos mov-lo para frente ou para trs, dependendo
do tipo de ajuste necessrio que uma determinada nota
exige. Tambm, cobrindo-se pouco mais de 1/3 do
bocal, possvel deslocar o lbio superior para frente ou
para trs, com o propsito de alterar o ngulo de
incidncia da coluna de ar na parede do bocal, ou seja,
dirigindo a coluna de ar mais para dentro ou mais para
fora do instrumento, dependendo da necessidade em se corrigir a emisso da nota
ou outros fatores como sua intensidade. Por exemplo, uma nota aguda como o G5,
que exige uma presso na coluna de ar relativamente grande, mas que por natureza
uma nota cuja tendncia de afinao ser muito alta. Portanto no pode ser
tocada com uma embocadura normal. Devemos projetar o lbio superior para a
frente, cobrindo pouco mais da metade do bocal e manter o lbio inferior somente
1/3 do bocal (ver ilustrao: como o lbio inferior est sendo coberto pelo lbio
superior, no podemos v-lo). Com esse tipo de ajuste, temos ento a coluna de ar
direcionada mais para dentro do bocal, o que provoca a diminuio da freqncia da
nota (abaixando-a). Entretanto, precisamos compensar a queda na presso da
Copyright 2000 by Svio Arajo. All rights reserved.
A embocadura e a emisso do som na flauta.
14
coluna do ar motivada pelo fato de que o orifcio entre os lbios est maior do que o
necessrio. Para tanto, utilizando-se as tcnicas de respirao e os conceitos sobre
o Funcionamento do Aparelho Respiratrio, provocamos uma presso maior no ar
dos pulmes e geramos uma coluna de ar maior, mas com menor velocidade em
sua emisso.
Concluindo, necessrio enfatizar um ponto muito importante para a
execuo musical: em relao aos aspectos de controle da coluna de ar e
embocadura, devemos sempre dar muita importncia s respectivas partes de nosso
corpo que atuam para esse controle e deix-las em harmonia, mesmo sendo
algumas muito distantes uma das outras. Durante a execuo, devemos sempre
procurar por uma sensao agradvel e confortvel, de um relaxamento natural, e
sensaes como liberdade, alegria e entusiasmo. No devemos entender estas
explicaes como tpicos meramente mecnicos e presumir que pela sua simples e
correta aplicao, automaticamente asseguramos uma qualidade tcnica e musical
correta no instrumento. A expressividade est alm de todo e qualquer conceito
tcnico. Devemos manter uma postura atenta, aberta e sensvel para atingirmos o
cerne da execuo musical e ouvir aquilo que tanto a msica quanto o prprio
instrumento tem a nos dizer. Desta forma, mantemos estes elementos unificados e
deixamos que eles nos guiem atravs do universo da msica.
Copyright 2000 by Svio Arajo. All rights reserved.
Bibliografia.
15
Bibliografia
ANDO, S. e YAMAGUCHI, K. Statiscal study of spectral parameters in musical
instrument tones, Journal of the Acoustical Society of America., vol. 94, No. 1,
pp. 37-45 (Julho, 1993).
BACKUS, J. The effect of the player's vocal tract on woodwind instrument tone. J.
Acoust. Soc. Am., vol. 78, pp. 17-20 (Julho, 1985).
BENADE, A. H. e GANS, D. J. Sound Production in Wind Instruments, in "Sound
Production in man", Ann. N.Y. Acad. Sci., 155:247-263; 1968.
BISHOP, B. Abdominal muscle and diaphragm activities and cavity pressure in
pressure breathing. Journal of Applied Physiology. 18:37, 1963.
__________. Neural Regulation of Abdominal Muscle Contractions, in "Sound
Production in man", Ann. NY Acad. Sci., 155:191, 1968.
BOEHM, THEOBALD. The Flute and Flute Playing in Acoustical, Technical, and
Artistic Aspects. New York: Dove Publications, Inc., 1964.
BOUHUYS, A. Lung Volumes and breathing patterns in wind-instrument players. J.
Appl. Physiol. 19:967-975, 1964.
__________. Physiology and Musical Instruments. Nature 221:1199-1204, London;
1969.
__________. Pressure-flow events during wind instrument playing, in "Sound
Production in man", Ann. NY Acad. Sci., 155:264-275; 1968.
BOUHUYS, A., PROCTOR, D. e MEAD, J. Kinetic Aspects of Singing, J. Appl.
Physiol. 21, pp. 483-496, 1966.
CAMPBELL, E. J. M. The Respiratory Muscles and the Mechanics of Breathing.
Lloyd-Luke, London; 1958.
__________. The Respiratory Muscles, in "Sound Production in man", Ann. NY
Acad. Sci., 155:135-139; 1968.
KEEFE, D. H. Woodwind air column models, J. Acoust. Soc. Am. vol. 88, No. 1, pp.
35-51 (July 1990).
KEVIN, K. The Dynamics of Breathing, with Arnolds Jacobs and David Cugell. Flute
Talk Magazine, Vol. 9, No. 2; (1989):14-20.
Copyright 2000 by Svio Arajo. All rights reserved.
Bibliografia.
16
KONNO, K. e MEAD, J. Measurement of the separate volume change of ribcage and
abdomen during breathing. J. Appl. Physiol., 22:407-422; 1967.
KRELL, JOHN C. Kincaidiana A Flute Players Notebook, The National Flute
Association, Inc., 1997
MALOTIN, F. Practical Guide to teaching the Flute, Copyright 1998 (Internet file)
MARAFIOTI, P. M. Caruso's Method of Voice Production: The Scientific Culture of
the Voice, Dover Publications, Inc. New York, 1981. (Editado originalmente
em 1922 por D. Appleton & Co., N.Y.)
MEAD, J., BOUHUYS, A. e PROCTOR, D. Mechanisms Generating Subglottic
Pressure, in "Sound Production in man", Ann. NY Acad. Sci., 155:177-181;
1968.
NAVRTIL, M. e REJSEK, K. Lung Function in Wind Instrument Players and
Glassblowers, in "Sound Production in man", Ann. NY Acad. Sci., 155:276282; 1968.
PROCTOR, D. Breathing, Speech and Song, Springer Verlag, New York; 1980
QUANTZ, JOHANN JOACHIM. On Playing the Flute, New York: Schirmer Books,
1985.
STAUFFER, D. W. Physical Performance, Selection, and Training of Wind Instrument
Players, in "Sound Production in man", Ann. NY Acad. Sci., 155:284, 1968.
STEVENS, R. S. Artistic Flute Technique and Study, Hollywood: Highland Music
Company, 1967
SUNDBERG, J. The Science of the Singing Voice, Northern-Illinois University Press,
Dekalb, Illinois; 1987.
__________. Breathing Behavior During Singing. The Nats Journal Jan/Feb: 4-9,
49-51, 1993.
__________. Perceptual aspects of singing. Journal of Voice 8(2):106-122, 1994.
TITZE, I. R. e SUNDBERG, J. Vocal intensity in speakers and singers. J. Acoust.
Soc. Am., vol. 91, No. 5, pp. 2936-46 (May 1992).
VIVONA, P. M. Mouth Pressure in Trombone Players in "Sound Production in man",
Ann. NY Acad. Sci., 155:290-296, 1968.
Copyright 2000 by Svio Arajo. All rights reserved.
Você também pode gostar
- Fisiologia RespiratóriaDocumento15 páginasFisiologia RespiratóriaThiago Rial100% (2)
- Baby SharkDocumento9 páginasBaby SharkJara Patricia CarolinaAinda não há avaliações
- Avaliação Diagnóstica 2013 - Língua Portuguesa - 4º AnoDocumento8 páginasAvaliação Diagnóstica 2013 - Língua Portuguesa - 4º AnoSibele Santos100% (1)
- Ficha de Avaliação FacialDocumento18 páginasFicha de Avaliação FacialDayane Santos33% (3)
- Aula 7 - Adaptações Respiratórias Ao Exercício FísicoDocumento18 páginasAula 7 - Adaptações Respiratórias Ao Exercício FísicoTatianaAinda não há avaliações
- Miller, Richard. A Estrutura Do Canto - Apêndice 2.Documento2 páginasMiller, Richard. A Estrutura Do Canto - Apêndice 2.JoãoBoscoAinda não há avaliações
- Método para Flauta RubankDocumento40 páginasMétodo para Flauta RubankFlávio Tiago Solai100% (1)
- Respiração Instrumentos de SoproDocumento6 páginasRespiração Instrumentos de SoproMarcos arruda100% (1)
- Técnica Vocal - MétodoDocumento24 páginasTécnica Vocal - MétodoGleidson Jordan100% (1)
- Jane Fajans. Seria A Moqueca Apenas Uma Peixada. In: Brazilian Food: Race, Class and Identity in Regional CuisinesDocumento11 páginasJane Fajans. Seria A Moqueca Apenas Uma Peixada. In: Brazilian Food: Race, Class and Identity in Regional CuisinesBolivar Marini100% (1)
- Exemplo de Referencial TeoricoDocumento6 páginasExemplo de Referencial TeoricodtybelAinda não há avaliações
- Análise Biofísica Do Sistema (Biofísica Da Respiração)Documento22 páginasAnálise Biofísica Do Sistema (Biofísica Da Respiração)Klleber HenriqueAinda não há avaliações
- Músculos Da RespiraçãoDocumento1 páginaMúsculos Da RespiraçãoHenrique MedeirosAinda não há avaliações
- Sistema RespiratórioDocumento11 páginasSistema RespiratórioJBMASTERAinda não há avaliações
- Ventilação PulmonarDocumento10 páginasVentilação Pulmonaradrielly.ribsAinda não há avaliações
- Roteiro Sistema Respiratório Ii: Mecânica Da RespiraçãoDocumento4 páginasRoteiro Sistema Respiratório Ii: Mecânica Da RespiraçãoMaria CoelhoAinda não há avaliações
- Produção Da Fala - Marchal e ReisDocumento120 páginasProdução Da Fala - Marchal e ReisJoão Pedro LagesAinda não há avaliações
- Respiração SumárioTeóricoDocumento13 páginasRespiração SumárioTeóricoAntonio Herci Ferreira JuniorAinda não há avaliações
- Tutorial 06Documento6 páginasTutorial 06João Felipe PinheiroAinda não há avaliações
- Propriedades Mecânicas Dos PulmõesDocumento12 páginasPropriedades Mecânicas Dos PulmõesHeraldo MaiaAinda não há avaliações
- Relatório 03 - Módulo 3 - ChalkidisDocumento9 páginasRelatório 03 - Módulo 3 - ChalkidisElizandraBiáAinda não há avaliações
- Apresentação RespiratóriaDocumento4 páginasApresentação Respiratórialahislateles.comAinda não há avaliações
- Trabalho - Optativa FisiologiaDocumento6 páginasTrabalho - Optativa FisiologiaLuiza MoraesAinda não há avaliações
- Estudo Da Respiração em Técnica VocalDocumento15 páginasEstudo Da Respiração em Técnica VocalRamon CarneiroAinda não há avaliações
- Apostila de RespiraçãoDocumento14 páginasApostila de RespiraçãoCleusa TorresAinda não há avaliações
- Problema 5 - Respirar É ViverDocumento7 páginasProblema 5 - Respirar É ViverMiguel PereiraAinda não há avaliações
- Respiração TrompeteDocumento4 páginasRespiração TrompeteJosé Alves AlvesAinda não há avaliações
- Resumo - Fisiologia - Ventilação PulmonarDocumento3 páginasResumo - Fisiologia - Ventilação PulmonarYuri SoaresAinda não há avaliações
- 043 Musculos Da Respiracao 2Documento6 páginas043 Musculos Da Respiracao 2IagoFernandesAinda não há avaliações
- Respiratorio 1 e 2Documento14 páginasRespiratorio 1 e 2Dádiva Lukeba AndréAinda não há avaliações
- Fisiologia Respiratória PDFDocumento14 páginasFisiologia Respiratória PDFAlineCruzAinda não há avaliações
- Fisiologia Do Sistema RespiratórioDocumento26 páginasFisiologia Do Sistema RespiratórioJoselito SousaAinda não há avaliações
- Capítulo 38 Guyton - Nelito SangulaDocumento11 páginasCapítulo 38 Guyton - Nelito SangulaNelito SangulaAinda não há avaliações
- Aula 8Documento44 páginasAula 8benjaminbrazalvesAinda não há avaliações
- Relatório MecanicaRespiratoriaDocumento10 páginasRelatório MecanicaRespiratoriaMaria Clara GomesAinda não há avaliações
- Fisiologia RespiratóriaDocumento8 páginasFisiologia RespiratóriaGeovana OliveiraAinda não há avaliações
- A Importância Da RespiraçãoDocumento9 páginasA Importância Da RespiraçãoFreneck OliverAinda não há avaliações
- Apoio RespiratórioDocumento5 páginasApoio RespiratórioWilkerson CastroAinda não há avaliações
- Tutoria VentilaçaoDocumento3 páginasTutoria VentilaçaoJoão OlintoAinda não há avaliações
- 34203-Texto Do Artigo-121975-1-10-20060527Documento5 páginas34203-Texto Do Artigo-121975-1-10-20060527Miguel PinheiroAinda não há avaliações
- FisiologiaDocumento12 páginasFisiologiaLuana AraujoAinda não há avaliações
- Movimentos RespiratóriosDocumento2 páginasMovimentos RespiratóriosIsabelaAinda não há avaliações
- Movimentos RespiratoriosDocumento2 páginasMovimentos RespiratoriosMiguel AlmeidaAinda não há avaliações
- File 1997Documento9 páginasFile 1997Marco NalinAinda não há avaliações
- Formatar O Capítulo Sobre Respiração Aborda Detalhadamente Os Aspectos Fundamentais Desse Processo Essencial para o CantoDocumento6 páginasFormatar O Capítulo Sobre Respiração Aborda Detalhadamente Os Aspectos Fundamentais Desse Processo Essencial para o CantoelisangelaifcemusicaAinda não há avaliações
- A Respiração Na CorridaDocumento14 páginasA Respiração Na CorridaamjcarvalhoAinda não há avaliações
- Fisiologia Do Aparelho RespiratórioDocumento7 páginasFisiologia Do Aparelho RespiratórioKarumbyAinda não há avaliações
- Músculos Principais e Acessórios Da RespiraçãoDocumento14 páginasMúsculos Principais e Acessórios Da RespiraçãoJhon AraujoAinda não há avaliações
- Experimento Pulmão ArtificialDocumento2 páginasExperimento Pulmão ArtificialMonique Meireles PereiraAinda não há avaliações
- A Respiração Sua ImportanciaDocumento4 páginasA Respiração Sua ImportanciajordandorrAinda não há avaliações
- Ginástica respiratória (Traduzido): Purificação - Saúde - Força - EnergiaNo EverandGinástica respiratória (Traduzido): Purificação - Saúde - Força - EnergiaAinda não há avaliações
- Aprenda A Respirar Melhor - Aprenda Técnicas De Respiração Para Melhorar A Sua Saúde E Bem-Estar: Coleção Vida Equilibrada, #52No EverandAprenda A Respirar Melhor - Aprenda Técnicas De Respiração Para Melhorar A Sua Saúde E Bem-Estar: Coleção Vida Equilibrada, #52Ainda não há avaliações
- Relax ao alcance de todos: Exercícios práticos de respiração, relaxamento, e visualizaçãoNo EverandRelax ao alcance de todos: Exercícios práticos de respiração, relaxamento, e visualizaçãoAinda não há avaliações
- Resumo Estendido - O Poder Curativo Do Nervo Vago (Accessing The Healing Power Of The Vagus Nerve) - Baseado No Livro De Stanley RosenbergNo EverandResumo Estendido - O Poder Curativo Do Nervo Vago (Accessing The Healing Power Of The Vagus Nerve) - Baseado No Livro De Stanley RosenbergAinda não há avaliações
- Manual de Fisioterapia Respiratória com Ênfase em UTI e Covid-19No EverandManual de Fisioterapia Respiratória com Ênfase em UTI e Covid-19Ainda não há avaliações
- Semiologia AcupunturaDocumento18 páginasSemiologia AcupunturaBeto RodriguesAinda não há avaliações
- Como Comer Depois de Apertar Ou Colocar Aparelho FixoDocumento8 páginasComo Comer Depois de Apertar Ou Colocar Aparelho FixoRoseli MottaAinda não há avaliações
- Capítulo XXDocumento16 páginasCapítulo XXPatríciaOliveira100% (1)
- 23.03 e 30.03 - Noções de Primeiros Socorros - Rosana e Thaís - 1 PDFDocumento101 páginas23.03 e 30.03 - Noções de Primeiros Socorros - Rosana e Thaís - 1 PDFcaroliju2034140Ainda não há avaliações
- Embriologia Dos RepteisDocumento37 páginasEmbriologia Dos Repteisluiz felipe pereira mendes100% (1)
- Relatorio de Cirurgia - Modelo TotalDocumento7 páginasRelatorio de Cirurgia - Modelo TotalJoão CottaAinda não há avaliações
- Amostra PDFDocumento15 páginasAmostra PDFLone Wolf Sama enterteinmentTMAinda não há avaliações
- Parte 8Documento44 páginasParte 8Helena LeiteAinda não há avaliações
- Articulações PDFDocumento23 páginasArticulações PDFrodrigoAinda não há avaliações
- RCP Pediatrico - Ana Elida e Nilcyeli AragaoDocumento18 páginasRCP Pediatrico - Ana Elida e Nilcyeli AragaofalaulissesAinda não há avaliações
- Anatomia Do Sistema Genital Feminini LangeDocumento37 páginasAnatomia Do Sistema Genital Feminini LangeMayara AndriellyAinda não há avaliações
- Alguns Epigramas de MarcialDocumento2 páginasAlguns Epigramas de MarcialCharlene Miotti100% (1)
- Exercícios Gramática 3 PEdit - Sandra BarrosoDocumento74 páginasExercícios Gramática 3 PEdit - Sandra BarrosoJoana Costa Pinto100% (3)
- Aumento de Pênis e Correção de CurvaturaDocumento12 páginasAumento de Pênis e Correção de CurvaturaMarlos DadonasAinda não há avaliações
- Meditação Atenciosa de Deepak ChopraDocumento10 páginasMeditação Atenciosa de Deepak ChopraMarAinda não há avaliações
- Crânio e FaceDocumento78 páginasCrânio e FaceEmerson AlvesAinda não há avaliações
- Sistema RespiratórioDocumento13 páginasSistema RespiratórioEduardoAinda não há avaliações
- Alimenta Teatro - DentinhoDocumento3 páginasAlimenta Teatro - Dentinhoanabela_pinho3575100% (1)
- NeuroanatomiaDocumento152 páginasNeuroanatomiaEdna Luiza Ferreira Giudice100% (2)
- Aventura de Cthulhu 2d6 Heranc3a7a MalditaDocumento8 páginasAventura de Cthulhu 2d6 Heranc3a7a MalditaHenrique Angelus GuimaraesAinda não há avaliações
- CabeloDocumento6 páginasCabeloritadias4Ainda não há avaliações
- Incensos Campeões de VendaDocumento3 páginasIncensos Campeões de VendaAna EncarnacaoAinda não há avaliações
- Introduçao A Fisiologia e Homeostasia 1Documento44 páginasIntroduçao A Fisiologia e Homeostasia 1Cristiano LimaAinda não há avaliações
- 3 Obst. Vet. Fisiologia Do PartoDocumento37 páginas3 Obst. Vet. Fisiologia Do PartolfdcjeepAinda não há avaliações
- Dinâmica para CriançasDocumento76 páginasDinâmica para CriançasProfessora Carla MachadoAinda não há avaliações