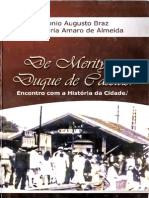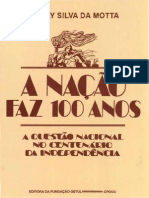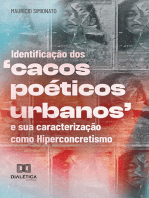Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Muito Além Do Espaço: Por Uma História Cultural Do Urbano
Muito Além Do Espaço: Por Uma História Cultural Do Urbano
Enviado por
Ana Cristina Meirinho NevesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Muito Além Do Espaço: Por Uma História Cultural Do Urbano
Muito Além Do Espaço: Por Uma História Cultural Do Urbano
Enviado por
Ana Cristina Meirinho NevesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
"
MUITO ALEM DO ESPAO:
por uma histria cultural
do urbano
Sandrajataby Pesavento
''Em le tem"" retrouY, ltima parte
de la roC'hcrchc du tallps perdu,
Mareei Prous/ COt.vIdado wna manh
casa daprlnoesa de Guermantes.
Esperando no saloobiblioteca, ele
reenamlra o sabor da madeleine,
e logo Invoca a realidade da tempo
passada como wna eelta relao entre
""ISOI)eS e lembranas.
(le Nouvel Observ.ltcur, 1995:9)
..
ressurgimento do passado se
propicja pela combinao de uma
experincia, ou pela (enovao da sensi
bilidade do vivido - o ato de comel a
madeleine -, com a evocto, que inau
gura uma nova temporalidade atravs de
um pas:Ido que se fuz presenle.
Desca fonna. a combinao da mem
ria,1embrana com a sensao/vivncia
re-apresenla algo discan Ie no lempo e no
espao e que se coloca no lugar do ocor
rido.
Estariamos diante de uma das COllefl
tes centrais do novo paradigma que se
prope substituir o esfacelamento do
SIe
conjunto de idias e cenells herdadas
do sculo XIX que se encontra em pro
palada crise nos lempos atuais.
Em lermos te6rico-metodol6gicos,
que os estudos de histria cul
tural eslo na ordem do dia na historio
grafia mundial, podendo mesmo dizer-se
que constituem a "ponca fina" deste final
de sculo.
Entendida como o desdobramento da
histria soclaI (Hun!, 1989), que, por sua
vez, se apresen lava como a verten te te
sullaOte da confluncia das historiogra
1
fias inglesa e francesa,2 a chamada nova
histria cultural se encontra difundida
pela A1emanha3 e Escados Unidos,4 sem
filiar em tradies mais antigas, rumo a
5
I:ilia
I
Pode-se mesmo dizer que os debates
em tomo da histria cultural e do sis tema
de idias-imagens que lhe d suporte - o
imaginrio social (&C7ko, 1984) - so
um dunen lO ca.alisador do pensamento
acadmico conlemporneo.
Entendemos a histria cultural no
Estudos Histricos. R.io de]aociro. 't'ot 8, OD 16, 1995. p. 279-290.
mooos HI\TiK[K 1991ni
280
a pressupostos terico-metodol6gicos,
mas como uma DOVd. abordagell ou um
nom. oIh.r que se apia sobre as anlises
j uaJizadas. e, por sua '.""4 avana dentro
de um detamin.do enfoque. Neste senti
do, a histria cultur:l1 ,."Imente ...tIl se
somar ao con.heci,llCnto acumulado, sem
mltar as COSIaS a uma matriz terica, frulO
de uma relli':;0 cumulativa.
Pensar o soem atra>s de suas repre
sentaes , a nosso ver, uma preocupa
io contempornea do nosso fim de s
culo, b.lirnda pela crise dos paradigmas
explicativos da lftlljdade que ps em xc
que a objetividade e racionalidade das
leis dentficas no donnio das cindas
humanas.
Assumir esta postura metodol6gic> a de atingir o real atra>s de suas repre
sentaes - implica partir de detennin a
"
"
do "corpus terico"..
O primeiro campo a ser definido seria
o da representlio. A utilizaio deste oon
ceilo, que implica o relOmo a DuddIeim e
M3uss (Mauss, 1969), IOmou-se uma cate
goria central para as aJllises da nova his
tria culrural. O conceilO, em s en",Ive
uma srie de oonsideraes, a comear
pelo pressuposlO de que a represen"'io
implica uma relaioambgua entre a sn
da e pusena. No caso, a represen",o
a presen tjfoio de um ausente, que
dado a ver segun do uma imagem, mentll
ou n"teria!, que se disrancia do mimetis
mo puro e simples e trabalha com uma
atribuiio de sentido.
Para Chanicr (1989, 1990, 1994a,
1994b) a noo de represenl.iO central
para a sua ooncepio de histria cultural,
que se baseia na correlaio entre prticas
sociais e representaes. A representlio
deixa ver uma ausncia, ('SIabelecendo-se
a difetcna entre aquilo que representl (o
e o que represemado.
Mas, ao mesmo tempo, a repusentaio
.6m" uma presena daquilo que se ex
pe no lugar do outro. Entre uma e outra
funio, viabiliza-se a oonstruio de um
sentido, sendo a tarefa dohislOriador a'in.
oconcod
6
.
.
I'
'h'I"
glI'e513.m.e19l1loa C, usando
lO oomo um instrumento para inteliOf'C
o mundo, garantindo a sua inserio oomo
categoria central para uma nova epIsteme
para a histria.
EnxeIgar a realidade sob este prisma
implica se colocar no cerne da redefini
io paradigmtica da histria.
Parece-nos particulanncnte interes
sante a discusso aberta por Jean Boutler
e Oontinique Julia (1995) em publicaio
recente, e que se silUa (n.-tlte necessida
de de estabeleccr novos paradigmas para
o conhecimenlO terico.
A alternativa propOSIa se encaminh a
no sentido ranlO de reoonstruir uma nova
lOtaiidade quanlO de encontrar novas
vias terico-metodolgirns para realizar
a anlise histrica. Um primeiro passo
seria O entendimenlO de que a cultura
poderia ocupar este lugar de uma instn
cia mais central e g1oba1iz:m te que reo
rieotasse o olhar sobre o real Tal postuca, ao nosso ver mstigante, veulao encon
tro da moderna tendncia de anHse da
hislOriografia, que aborda os sistelT\.1S
simblicos de idias e inL1gens de repre
sentaio ooletiva a que se d o nome de
imaginrio social.
Segundo estl tendncia, a tarefa do
historiador seria captar a pluralidade dos
sentidos e resgatar a construio de sigo;'
ficados que preside o que se chamaria a
"representlio do mundo". Mais do que
isto, IOrnamos por pressuposlO que a his
tria , ela prpria, reprrsenL1o de algo
que teria ocorrido um dia. Distinguira
mos. portanto. o que se chamaria "passe..
dade" (o ,r,1 aoonlecido) da "histria",
entendida como narr:uiva que "repre
sentl" atra>s de texIO e imagem.
Assumir estl posrura - "p6s-modema",
segundo Rssen (1992) - implica adntir
que no h um nicopron'ssocompreen
si", para a histria, alm de adntir crit
rios como o da ficcionalidade e do relati
vismo para a lccuperaio do pas<ad o.
.
IUrro A1l.I 00 [\PAO
Se a "passeidade" algo que ocone
por fora da experincia do vivido e se os
registros cb suaoconndaj nos chegam
como rep resentaes de algo que j fo
a hislria a ser construda apresenta-se
como uma possibilidade entre outraS de
captar o passado.
No nossa inleOo relOmar todas as
"'cetas que esta abordagem implica ou
todos os problemas que enfreu ta, mas
sim enfocar uma das suas verIeOtes de
investigao, que IOma a cidade como
objelO de refle:o.
Neste contexto, buscamos com este
trabalho resgatar a cidade atravs das
represenmes, entendendo o fenme
no umano como um acmulo de bens
culturais (rugan, 1992). Ora, consideran
do a cultura como uma rede de signif,ca
dos sociaImen te estlbelecidos (Geenz,
1981), a cidade o espao por excelncia
para a construo destes signifocados, ex
pressos em bens culturais. Nosso inleOlO
, pois, resgatar a cidade como ,,"'I atra
vs da "leitura da cidade", ou de suas
represenmes. EnleOder a questo des
te modo no submetla a um mero
jogo de palavras, mas sim partir do pres
supoSIO de que as representaes so
parte integrante tambm daquilo que
cbamamos realidade. 1510 se d no s
porque so matrizes geradoras de pclti
cas sociais como tlmbm porque de
monstram um esforo de revelao,bcul
mmento dado tanto pelas imagens reais
(cenrios, paisagens de rua, arquitetura)
como pehs im:lgens meL-.fricas
ratura, pintura, poesia, discurso tcnico
e higienism ele.) (Pecb/mn, 1992).
,
Entendemos, pois, que a cidade opor
tuoiza uma "iluminaio", expresso '"
ma
da no sentido benjaminiano do termo
(Petitdeman ge, 1991) de reveho, inte
ligibilidade, cruzamen10 do dado objeti
ro (a obra, o trao, o sinal) com o eusub
jetivo (a leitura da represenLo).
281
A ddadc , como se sabe, uma realiza.
o muilO ant Da Ur dos ziguraths 1
Tebas das Sete Portas, da Roma dos C
sares i Avignon dos Papas, ela marca a
sua presena na bi<tria, atravs daque
les elementos que assinalam O adcn1O
do que se considera civilimo. Mas
sobretudo com o ad.cnlO do capil:Jlismo
que se impe a "questio ulbana", colo
cando diante do Estld o a exigncia de
um modus v/vendi normall3dor do "vi
ver em cidades". processos econmicos
e sociais muito claros delineiam-se, trans.
fo rmando as cond.es da existncia:
concentraes populacionais, migraes
rurais, superporoamento e transforma
o do espao assin alam O aescimenlO e
configurao das cidades.
A rigor, j existe um signillcatiro co
nhecimento arumulado em termos de
estudos umanos, que nos foll<'ll"do por
uma hislria econmico-sociaI rohada
para as origens e o desenrolvimento do
cap;.alismo e da sociedade burguesa e
que teve na cidade o seu espao privile
giado de anlise. Como refere Pinol
(1991), a hislria u/baila no teve a mes
ma importncia C/ou dimenso eu. uxlos
os pases do mundo ocidental, cabendo
GrBretanha e aos Estados Unidos O
pioneirismo nesta rea.7 Na Frana, a
linha hislrico-social de estudo das cida
des encontraria sua grande expresso na
volumosa coleo dirigida por Georges
Duby (1983), complelllcnl:Jd. pelos tra
balhos de Murard e Zylberman (1976,
1978), Yves Lequin (1978), 13emard Le
petit (1988, 1993) ,Jean Luc Pinol (1991),
Bourillon (1992), Michelle Perrot
(1981), louis Chevalier (1978) e Chris
tian Topalov (1987, 1990). No caso bra
sileiro, h que citar a persisleOte regiona
lizao dos estudos, que vo desde anli
ses mais amplas e aprofundadadas, resul
tantes de teses a artigos, ensaios e obras
il
de divulgao.
Mas, como j foi anunciado, interessa
nos o aprofundamento de uma hisln.
mUDOS HIITRlCOI Im/li
282
cultural do urbano, onde se cruzem os
d ados objetivos obras, trnos, sinais ou
"ClCOS" da passeidade que nos chegam,
sob a fonna de imagens ou disrursos,
com as possibilidades de leitura que a
-
ceilD da cidade moderna e da civilizao.
Exigndas morais, higinicas e estticas
imperiosas se impunham diante da ne
cessidade de "ser" e "parecer" moderno.
Mesmo que o processo de renovao
cidade oferece.
uibana eUl curso no se aproximasse, em
termos de eSCIla, do das metrpoles cc.is
pensar para muilD alm do espao, enve
redando pelo caminho d a s repre
sentaes simbliCls da urbe, que p0dem corresponder ou no ccolidade
que suporlavam o conceilD, a populao
afetada pelas demolies vivenciava a si
tuao como pertinente ao acesso mo
dernidade. Em suma, os porto-a1egren
ses sentiam a sua cid.de como metrpole
Empreen der este caminho pressupe
sens\'el, sem que com isso percam a sua
fora imaginria. Como se sabe, a idia
ou concepo de que uma ddade seja
uma metrpole vem assocL'lda a dados
concretos e evidentes, rais como padro
de edificao, nmero de populao, sis
tema
de servios uroanos implemen la
dos, rede infra-estrutura de lazer e
comercial ele. Metrpoles foram Paris e
lDndres, assim como Nova Iorque, So
Paulo e tambm o Rio deJaneiro. Ou seja,
estes centros urbanos comporlaram a
materializao, no tempo e no espao, de
um fenmeno social que deu margem ao
conceito de metrpole.
Mas o que pensarde uma PonoAlegre
dos anos 30 do nosso sculo, acanh ada
segundo os padres urbanos vigentes, e
que referida pelos con telllpoclneos
como metrpole, vivenciando um "ritmo
aluclnante" de "p rogresso" e desenvolvi
mento, tal como dizem os peridicos da
poca?
Devemos entender que o espao
construdo, ordenado e transformado pela destruio dos becos, a abertura da
avenida Borges de Medeiros, a constru
o do viaduto-suscilavasensaes, per
cepes, e a elaborao de representa
es para aqueles que vivenciavam o pro
cesso
de mudana na cidade. Sem dvi
da, estaS vivncias eram tesladasftente ao
consumo de padres de referncia j
e a representavam como tal em crnicas
de jornais, poesias, imagens e discursos
variados.
Estariamos di.n te de um imaginrio
social sobre a cidade-metrpole que, sem
cOllespondncia efetiva com o real coo
ereto, tinha uma existncia d"lJ"amente
delimilada pelos padres de refern cia
conceitual vigentes no mundo capitalis
ta. Pode riamos talvez dizer que Pono
Alegre se sentia metrpole sem o ser
realmente, mas esta sensib ilidade fazia
com que a represenlaao unagmarta ganhasse fora de realidade. De uma cerla
forma, esta idia esboada por Marsball
Ilerman (1986) em sua celebrada obra,
quando diz que, para determinadas re
gics-como a Rssia fzarista-, a moder
nidade aparece como algo distante, de
que se ouve folar, de que se tem um certo
conhecimento, que se almeja experi
mentar, e que se consubstancia, por ve
zes, num nico elemento, convertido em
emblema ria tal modernidade. Neste sen
tido, a avenida Borges de Medeiros, de
Porto Alegre, e a perspectiva Nevski, de
So Petersburgo, cumpririam o mesmo
papel de represen tao simblica da mo
-
dernidade desejada.
Da mesma forma, as representies
constitudas sobre o urbano podem, tlm
eStlbelecidos: as J:uwls avenidas, os via
bm, corresponder ou no aos cdigos
inki:Jis e s intenes dos seus constru
dulDS ou o saneamento urbano, com a
tores (Montliben, 1995). Por exemplo, as
"varrida dos pobres" do centro da cida
de, eram prticas sociais ligadas ao con-
consll'Jes e espaos do poder pblico
podetn ohedecer a uma intencionalid"lde
10110 llI DO BrAO
enquanto projeto e concepo, distll1te
das referendas simblicas que o seu uso
e consumo elaborar. Ou seja, enquanto
fonnuladores de propostas para a cida
de, os umanistas e arquitetos atribuem
uma funo e sentido a seus projetos,
que podero se distanciar em muilO das
conslrues s imb Ucas feitas pelos usu
rios daquele espao uansformado.
H que es"helecer, de pronlO, a dis
tino trazida por Marcel Roncayolo
(1995) entre produlOres e consumidores
do espao . Partin do da cidade como
representao ou conjunto de repre
sentaes, Roncayolo idenlifica que h
um sistema de idias, mais ou menos
coeren te, daqueles que "C,zem a cicbdc",
a projetam, discu tem e execu tam. Os
portadores de I:!is idias seriam identifi
cados no interior das dasses dominantes
ou das elites dirigentes, com destaque
especial para o que se chamaria os "pro
fissionais da cicbde": arquitetos, utbanis
tas, engenheiros, mdicos sanitaristas e
os demais tmico-burocratas encUlega
dos de implementar os equipamentos
necessrios intertellO utbana. A de
nominao de Roncayolo tem uma data
o precisa - o sculo XIX, no qual emer
ge a grande cidade, que coloca para os
govemos a necessidade de intervir no
espao, ordenando a vida, normatizando
a sociedade. A "quesr5o urbana" aparece
assim como um problcillJ posto, deriva
do das transfonnaes econmico-so
ciais da poca, e que tem na cidade o seu
Iocus privilegiado de realizao.9 Sem
dvida, estes "produtores do espao"
concebem uma maneira de conslruir
e/ou uansfonnar a cidade, atravs de pr
tiras delinidas, mas tamb m constroem
uma maneira de pensla, viv-la ou so
nh-la. H a projeo de uma "cidade que
se quer", imaginada e desejada, sobre a
cidade que se tem plano que pode vir a
rnlizar-se ou no. O que impona resga
tar, do ponto de vista da histria cultural
uroan.a, que a "dcbde do desejo", rea,
283
lizada ou no, existiu como elaborao
simblica na concepo de quem a pro
jetou e a quis conaer;zar.
Mas Roncayolo no se prende apenas
aos potL1dores de tais idias e execu tores
de tais prticas sociais de interveno no
UIDanO e se pergu nta sobre as repre
sentaes da cidade que provm dos
consumidores do espao ou habitantes
da uroe. Seriam eles alOres passivos, que
legi timariam seUl maior restrio as re
presentaes impostas "de cima"? Ou,
pelo contrrio, seriam capa2l's de meta
boli""r as atribuies e designaes refe
rentes a espaos e vivncias e depois
formular suas prprias elaboraes sim
blicas? Endossan. do a postura de Ginz.
burg (1987), opinamos pela circularida
de cultural, que pressup e o vaivm dos
sen tidos conferidos aos espaos e socia
bilidades utbanas atribudos pelos pro
dutores e consumidores da cidade.
No tocan te a estes "espectadores da
uroe", h que distinguir entre o que se
poderia chamar de "cidado comum" ou
"gente sou importncia", que constitui a
massa da populao citadina, e os que
poderiam ser designados como "leitores
espt"ciais da cidade", represen tados pe
los fotgrafos, poetas, romancistas, ao
nistas e pintores da cidade. Naturalmen
te, h uma v:uiao de sensibilidade e
educao do olhar entre os dois tipos de
consumidores da uroe.
Ver a cidade e uadllZla Ou discursos
ou imagens implica um fenmeno de
percepo, mas que envolve um comple
xo ronjunto de u16giCls SCK:bis". Como
refere Mon1\ibert (1995), estes processos
implicam julgamenlOS sociais, vivncias,
lembranas e posies estticas em cuja
base se encontra a operao prtica do
babltus de que fula Bourdieu. Ora, sendo
o babltus uma "aquisio" ou um ucap
tal" que se incorpora social e historica
mente, ele opera como uma mquina
uansformadora que faz com que "repro
du""mos" as condies sociais de nossa
ESTUDOS HIITiICOS -199111'
284
-
prpria produo, mas de uma maneira
relativamente imprevisvel (Bourdieu,
1980). As representaes do mundo s0cial assim constitudas, que classificam a
(eJljd;]de e atrWucm valores, no caso ao
espao, cidade, rua, aos bairros, aos
habitantes da urbe, no neutra, nem
rene.. ou puramente objetiva, mas im
plica atribuies de sentidos em conso
nncia com relaes S<>dal. e de poder
(Bourdieu, 1982).
Assim que as qualifiCleS de peri
gosa ou segura, limpa ou suja, ordenada
ou anrquica, bela ou feia para uma cida
de variavam de acordo com os produto
res ou consuodores do espao. Ainda
com base no mesmo racionk> que
podemos afirmar que h "leitores privi
legiados" da cidade, com habilitaes
culturais, profissionais e estticas que os
dotam de um olhar refinado, sensvel e
arguto. o caso dos citados escritores,
fOlgrnfos e pintores do urbano, que res
gatam as sensibilic\adades do ccai vivido,
estabelecendo com a cidade uma relao
privilegiada de percepo.
,
Isto no quer dizer, para o historiador,
que os "homens comuns" no sejam d()oo
tados de sensibilidade ou que sejam in
capaze de elaborar representaes. To
davia, resgat-Ias um caminh o que se
gue outras vias que no a fotografia bem
enquadrada e significativa, a obra de arte,
o romance urbano ou a crnica bein
escrita. Ler a cidade dos excludos, p0bres e marginais conduz o historiador a
"escovar a histria a contrapelo", como
diz Benjamin , buscando os cacos, vesti
gios ou vozes daqueles que figuram na
histria como "povo" ou "massa" ou que
se encontram na contramo da ordem,
como marginais. nos regislrOs policiais,
nas entrelinhas dos jornais, nas "colunas
do povo" dos peridicos, nas festaS po
pulares e nas manifestaes de rua, nos
acontecimentos singulares que quebram
a rotina da vida urbana que podemos
encontrar suas 'VOZeS ou resgatar os ind-
cios do que seria a sua ordeul, chegando
s represen taes coletivas de uma "ou
tra" cidade. Como considerao final s0bre eslas diferentes percepes do urba
no, h que lembrar a "circularidade cul
tural" que pernte a lrOCa de signos entre
o que se poderia ch amar a "cidade 1lai
vivida" dos consuodores da urbe e a
"cidade sonh ada" dos produtores do es
pao, ou ainda entre a contracidade dos
excludos do sistema, na "contramo" da
vida, e a cidade ordenada, bela, higinica
e segura das proposlas burgu..s'S.
Mas resgatar sensibilidades passadas,
ten lar recuperar construes imaginrias
dos homens de oUlrOra, cuja vi,ncia
cone por fora da nossa experincia sen
svd, constitui sem dvida um impasse.
TratancJo..se do passad o, como restabele
cer a R"lao entre sensaes e lembran
as, como vinrular a vivncia mCiuria?
Para usar a mctfoil prous'iana, o que
para o historiador representaria a made
/elne, que, pelo seu gosto, sabor e textu
ra, reconstituiria a experincia atravs da
evocao?
Como diz Calvino (1990), Ull" cidade
comporta muitas, e, ao analiS3r uma me
trpole, mediante O que ela se tomou,
possvelrdordaraquilo que elafoiumdia.
Naturalmente, a forma de uma cidade,
seus prdios e movimentos contam uma
hislria no >erbaI do que a urbe vi'.cn
dou um dia, mas, por mais que este
patrimnio tenha sido pr"s.ervado, os es
paos e socialidades se al teraram inex
ravelmente, seja enquanto forma, funo
ou significado. No caso das cidades mo
dernas, metcpoles de futo ou por atri
buio de seus habitantes, que a vem e
sentem como cal, a complexidade da vida
e as sucessivas intervenes urbanisticas
so agentes de descaracteri23o e mes
mo de degradao da cidade. Ocoue
muitas >czes O que se poderia chamar
uma "pasteurizao" ou uniformidade
do urbano no pior dos sentidos: a des
truio tia memria, a substiruio do
10110 AIlIIlO [!fAO
"velhO" pelo noyo, a uniformiZlo das
construes e a gener.J!iZlo do carler
de ImpessoaHdade ao con tex\O urbano.
Em fusdnanle estudo, Richard Senneu
(1992) se pergu nta, anle o problema cul
tural da cidade modema: como fazer fa
lac esle me.io Impessoal, como ultr.lpas
sar sua neutraldad'!? O o.emplo do cen
tro de Pono A1egle '<Clll logo ;\ lembran
a. Difici1 vislumbrar, na alUaI rua dos
Andrndas, a tradicional rua da Praia, pas
sarel. da moda, roleiro do fOOllng, a
desembocar na velha praa da Alffin dega,
com os seus cinemas e cs. Com as
rachadas dos velhos prdios recobenas
de tapumes, revestimen tos e c:a.rtlZeS, os
mesmos esp3l:OS cedendo lugar a DOYOS
usos - "bingos", agncias lotrirns e lojas
populares de discos -, muito pouco (esta
daquela rua da Praia celebrada em prosa
e verso pelos cronislaS e poelaS.
A postura de Senneu se ope ;\ de
Kevin Lynch (1990), que atribui uma qua
Udade visual particubr ao urbano. Lynch
aposta no que se chamaria uma "darida
de" aparenleou legibilidade da paisag'!m
citadina Para esle aUlOr, reconbecer os
elementos visualmenle expostos e nrga
nizlos num sistema coerOlte e com
preensvel do urbano seria uma tarefa
fcil J Sennet (1992) enlende que as
formas visuais da legibilidade na concep
o do espao urbano no se reYeSlelll
de um conledo ,50 simples ou WreIO.
Ou seja, anle a neutraldade Imposla pela
ao do ud"mista, a cidade no se reve
laria to transparenle. A prpria colidia
nC"idade da vida , tambm e1a, um ele
menlO de alieiao do espao e de trans
formao do meio ambienle.
O in teressaole na viso de Senneu
aposru juslamenle numa das c:traClens
OCas da cidade moderna como e1emenlO
rewlador de significados.
pacidade da grande cidade de oferecer a
experincia da alleridade, dadas as con
dies diversas e mltiplas que a vida
uiNOa oferece. Como diz Sennel a ci-
285
dade um lugar que autoliza as difeiCn
as e que encoraja a concelltr.lo desaas
difcicnas, construindo pertencimen10s
dspares e experincias cada "'(2 mais
complc-as.
O sob o Imprio desla diversidad<:
que Senneu postula um DOYO olhar,
defendendo o poder da inlerpre"o
visual que poderia conquisaarae:xpuin
da da complexidade do mcio urbano.
nesla forma, tudo aquilo que antes
representaria elementos de perturbao
e de:scaraclerimo - a Impessoalidade,
o anonimalO, a diferen a, a complexida
de, a separao entre o inlerior e o exte
rior, entre O privado e o pblico - pode
se IOrnar o elemenlO de ieroucao do
olhar, oportuoiz:mdo uma revelao e
uma noY.l coerncia para o mundo.
A perspectiY.l de Sennet que enfuiza
a necessidade de mudana de perspecli
Y.l do olhar sobre o urbano, uma p",
poSIa que se liga a outros espectadores
e/ou pensadOies da cidade. A comear,
como o piprio Senneu inYOCl, pela fi
gura de Charles Baudelaire, que via em
Paris a possibilidade de uma tr.lnscen
dncia do olliar, taisas coirespondncL'lS
possveis de serem apreendidas pelas
mltiplas figuras, espaos e prticts s0ciais que a cidade oferecia A figura do
j1IJneur que erra pela cidade, no emarn
nbado umano de ruas e personagens,
a de algum que tropea em obs tculos,
enreda-se em apelos e se defroola com
signos a decifrar dianle da ambiY.tlC:ncia
da vida citadina. No 10a que na rua
que o poela capla a diversidade da vida e
faz do contrasle e do paradoxo emergir a
sua representlo do urbano (Labarthc,
1995).
A idia do contrasle produzindo a re
velao ou a descoberta poderia ser
exemplificada em v:\rios momentos dos
fumosos Tableaux parls/ens, de Baude
Jaire, mas nos restringimos a um s, cor
porificado na poesia une mendlanle
ro..
.
se (Baudelaire, 1972), na qual o au-
286
ESTUIlOI HISriKOS Im/li
-
IOr ope a figura pattica e bela da jovem
mendiga sanha e cupidez dos "dev.lS50S" qlJC .'alllaram sua fragilicbde. A cri
fica socia1 e a opresso dos humildes
emerge da imagem conlt'aStante expres
sa de forma potica. Neste contexto, B:lu
debire recompe a l g u m a s repre
sentles do urbano, que operam como
valor de "sinlOma" de uma poca.
Waher Benjamin, leilDr de B:ludebire,
assim como de Prous desenvolve tam
bm uma espcie de mtDdo do contraste
com o fim de oportunizar a revelao ou
"i1uminaio". Cortando os vnculos gen
ticos passadQipresente, o que Benjamin
posh.b a criao de rontra-im.1gens que
rompam o ronlnuo da hislria, propi
ciando O que se chamaria de "o sallD do
tigre", que daria margem inteligibilidode
pelo contraste (Riissen , 1992). fuplique
mo-nos: no que Walter Benjamin no
privilegie a teoria e a roostruio de ron
ceilos para o enteodimeo lD das repre
sentles do social, poi<;, para tanlD,lana
mo das categorias da "dialtica da parali
sia" ou da fuuasm1goria,verso benjami
niana do fetichi<;mo da mercadoria m:uxis
ta (Benjamin, 1989).
EntretanlD, o que cabe resgatar neste
momenlD O mtDdo de que se vale
Benjamin para, atravs do cruzamenlD de
im.1gCOS coo lr'.uias, obter a revelao da
coerncia de sentido de uma poca. Ana
lisando a obra de Benjamin , Willi BoDe
(1994) indica a tOlica da montagem, !0rnada de emprstimo das v.lClguardas ar
tsti<:as, em espedal do cinema, e a sua
transposio para a hi<;lria. Segundo BoI
le, a hislDriografla benjaminiana, como
construo, pressupc um trabalho de
"destruio" e "desmontagem" daquilo
que o passado oferece, visan do a uma
nova construo, diL'\da pelo "agora". Para
tanlD, sugere a monL1gem em fotina de
"choque" ou contraste, confrontando as
imagens antitticas c, por conseguinte,
dialticas, para promover o "despertar"
ou a Hrevciao". Exemplifiquemos: uma
metrpole propida aos seus habitanteS
representaes contradilrias do espao e
das socialidades que ali tm lugar. Ela ,
por um lado,luz,seduo, meca da cultu
ra, civilizao, sinnimo de progresso.
Mas, por outro lado, ela pode ser repre
sentoda romo ameaadora,cen lro de per
dio, imprio do crime e da barbrie,
mostrando uma flceta de insegurana e
medo para quem nela habita. So, sem
dvida, vises rontradilrias,de atrao e
repdio, de seduo e rechao, que,para
doxa1mente, podem ronviver no mesmo
ponador. Esta seria at, como lembra
Marshall B<'!"man (1986), uma das caracte
rsticas da modernidade enquanto cxpe
rincia hi<;lrica individual e coletiva: a
postura de celebrao e combate diante
do novo, que em parte exerce fuscn io e
Cill pane atemOiIZa.
Assi m que, seguindo a estratgia me
tDdol6gica da mootagem segundo o cho
que contrastivo, possvel pr frente a
fr-ente as representaes da cidade que
filam de p rogresso ou tradio, as que
celebram O urbano ou idealizam o rural,
O imaginrio dos consumidores do espa
o frente aos dos produtores da urbe, a
viso das eliteS ciudinas e a dos popula
res e deserdados do sistema,a dimenso
d a esfera pblica, enquanto repre
scotao, e o im.1ginirio constitudo so
bre O privado, as imagcos do espao que
contrapem o cen tro ao bairro ou ainda
a prpria viso da rua, vista como local
de passeio ou passagem, contraposta
queles que nela moram por no terem
Outra opo.
Ainda obedeccodo ao princpio da
desmontagem e remonL1gcm dos fr;tg
mcnlDs do urbano, obtidos por idias e
im.1gcoS de represenL1o coletiva que
so contrastadas com O intuilD de revelar
uma nova constelao de significados,
WiIIi BoDe (1994:98) indica uma outra
tcnica de inteligibilidade: a montagem
por superposio. Refere que esta seria
talvez "a maisprop:ta para radiografar
MUITO A.lIlO I5l'AO
o coletivo", pois nela a torna
da de conscincia se daria aos poucos e
no por efeito da revelaio por choque,
mencionada acima. Seria o processo me
todolgico atra>s do qual o historiador
iria justapondo personagens, imagens,
discursos, eventos, perfionnances " ieais"
ou "imaginrias" do espao urbano.
Seria, ralvez, a tcnica que mais se
aproximaria do que comumente se cha
maria a contexlUali2!lio, o refClencial de
circunstncia ou ainda o quadro de con
tingncias que de marca a situaio a ser
analisada. Assim que, na cidde, com
pareceriam, como Crngmen tos da histria
287
outra, con te"",al2an do e opondo ima
gens e discursos antitticos, na busca de
significados e couespondnclas.
Apoiado num nom paradigma centra
do na cultur.ly utilizan do conceilOS tais
como os da representao e do im.1gin
rio ou o principio do cruzamento das
prlicas sociais com as imagens e discur
sos
de representaio do ual, escorado
na estratgia metodolgica detetivesca
da montagem por contraste e justaposi
io, resta ao hislOriador a difcil tarefa de
resgatar o que pensavam ou tentavam
expressar os homens do passado.
Se o passado um "lugar" distante, se
ele nos chega como um "tempo no vi
ou atores a serem JUSL1poStoS uns aos
outros, a multido e oflneur, o povo e
do", onde ocorreram futos "no ohseM
o destacado personagem, negros, mu
lheres, marginais, polticos, becos e ave
veis", as vozes deste passado pooem nos
soar estranh as, e suas im.ens podem
nidas, festas, riLUais, cotidianeidade e
eventos excepcionais.
F.cnte a esca estratgia de um hslOria
dor que recolhe fragmentos expressos em
discursos e imagens que fIlam de um
passado, tentando aproximar-se do imagi
figurar como incompreensveis para a
nossa contemporaoeicbde. Por =, h
como que um elo perdido que perpetua
os enigmas de um outro tempo.
Resgatar representaes coletivas an
ligas no julg-Ias com a aparelhagem
nrio coIetim de urna poca - e, portanto,
rep Jf"Sentando o j represen tado -, im
menral do nosso scul o, mas sim tentar
captar as sensibilidades passadas, cruzan
possvel deixar de pensar em OIdo Ginz
do aquelas represen taes en tre si e com
burg (1990), com as s"as consideraes
sobre o historiador.<Jetetive. G irobu rg de
fende que o conhecimento do historiador
indkirio e Crngmenral. Tal como Freud
ou Sherlock Holmes, ele opera de forma
detetivesca, recolhendo os sintomas, ind
cios e pistaS que, combinados ou cruza
as
prticas sociais concnlcs.
sobretu
do, lembrar a atualidade das palavras de
falo, um
homem do sculo XVI deve ser Inteligfvel
no em relao a ns, mas em relao
a seus contemporneos".
Lucien Febvre (1987:14): "De
E, como regra geral de uma histria
dos, pennitam oferecer dedues e desve
lar significados. Por VIifs , a constituio
cultural urbana, cabe lembrar que todo
esforo para desvelar represen taes
s evidncns manifestas. mas sim aos por
O leilOr do presente - hislOriador em
de um paradigma indicirio no se plCfide
menOiCS, aos sinais episdicos, aos ele
mentos de menor importncia,
mais
e residuais, que, contudo, pemtitiro a
decifrao do enigH" e o des(1ZCr de um
enredo.
A rigor, as tcnicas de monLgem por
justaposio e contraste no so, em s
excludentes, e, na prtica, os historiado
res tanto se valem de urna quanto de
pass:!cbs urna leitura entre possveis.
penhado em reconstruir as representa
es umanas do passado - lidar com as
dificuldades do filtro do tempo, a dificul
dade de acesso a cdigos e significados,
a es tranheza da linguagem e das prticas
usuais, o inevilvel vis da dissimulao
na constituio dos discursos, a disper
so e dificuldade do
acesso
a fontes e,
sobreludo, com a ce np" de lidar com
288
muDOS HIST6(0\ -19!lnl
-
matemis que j lhe chegam como repre
sentao. Se as representaes mais f
ceis de resgalaC so aquelas que resultam
de um aIO de ",mtade ou de um exercio
de poder as identificaes umanas atri
budas atravs de uma elabocaio delibe
rada e intencionalmente difundida ,
mais difcil ser a apreenso das contra
imagens construdas pelos usurios da
cidade, retiradas em parte de tradies
imemoriais, desejos no realizados ou
meJabolizaio e traduio dos vaiores im
pos lOS.
Neste enlrecruzamenlO de espao e
tempo, a cidade aparece como uma ema
ranhada floresta de simbolos, que po
dem se IOmar legveis para o hislOriador
ou, pelo contrrio, se configurar como
obstculos.
neste conleXlO que ganha expresso
a "teoria do l1birinlO" de Abcabam Moles
(1986). Entendido como um arqutipo
fundamental da organizao de um espa
o restrilO, o l1birin10 constiwdo de
muros, interdics, falsas sadas, mas
IaCnbm de colledores atravs dos quais
possvel achar caminhos.
A descoberta da cidade a de um
l1birinlO do vivido eternamente renov
vel, onde o indivduo que nele adentra
no um ser compleLmente perdido ou
sem rumo. algum que Uda com me
mria e sensao, experincia e bagagem
intelectual, recolhendo os microestmu
los da cidade que apresentam ca minh os
que se abrem e se fecham (Moles, 1984).
Para enlentar esta !arem, o moderno
leilOr do umano ter de contar com a sua
bagagem prvia, como o seu "capiLl.I" de
historiador: no s um universo concei
tuai e instrumental meJOdolgico, mas
tambm um eSlOque de conhecimenlOS
acumulados sobre o umano, que as ge
raes anteriores j produziram. A pactir
desta base, ele vai cruZ'lr referncias, pr
ticas e represen Les, dados objetivos e
percepes subjetivas, vai justapor, con
traStar e, sobrewdo, manter uma predis-
posiio e uma abenura para ver um pou
co mais alm, tal .." do que aquilo que
j foi vislO, despertando para o presente
as mltiplas cidades do passado que as
de hoje encerram.
E, para recouer s metforas que os
clssicos nos uazem, possa o novo olhar
de CUo orienlaC os cacninh os de Ariadne.
Notas
1. Principalmente dos neomancistas ing!o
ses E. P. Thompson, Chrisropher HiU e Ral'"
mond WdIi:uns.
2. Em especial, o grupo da Nova Histcia,
Reger Olartier, Jacques Le Goff, Jacques Ran
cicre, Jacques Revel e Alain Burguicre.
3. Carl Schorske e Hans Medici<.
4. Lynn Hun Nata!ie 7cnoo Da';s e Ro
bal I);!mton, s pan citltos mais conhecidos
do pblico brasileiro.
5. o caso espe6co do muito ceIc:Ixado
Carla Ginzburg.
6. Para a caregoria da tepreset1t.io, c0n
sultar, alm das obras de Reger Olartier, Jo
seIXO Baian, RepresentadotUls roIec/tvas y
proyec/o de modemldad (BacceIona, Anthro
pus, 1990); Piem: Bourdieu, O poder stmb
Itcv (lisboa, Difel, 1989) e Ce queparler ""UI
dire (Paris, Fayard, 1992); Carla Giruhurg,
"Reprsentation: le mo l'ide, la chose", An
nales, v.6, nov..<Jez. 1991; Louis Mario, Des
pouvotrs de l'lmage (Paris, Seuil, 1993) e De
la reprsenlaJlon (Paris, Gallimard/Seuil,
1994), e Paul Ria>.ur, Du Ie:de ti 1'Qc//on
(Paris, Espril/Seuil, 1986).
7. A partir da clssica obra de H. J. Syos,
VlclOrtan suburb: a study of lhe growlb of
Camberwell (London, Leioester University
Press, 1961), destaca-se o surgimemo de algu
mas obras que dariam incio New Urban
Histocy, como a de Slephan lbuIlsU'on e
Richard Sennett, NttUlleenlb amlurycles Es
says In New York btslory (New Haven, Yale
University Press, 1969), ou mesmo a muito
conhecida obra de E. P. Thompsoo, Tbe ma
klng of lhe Eng/Isb worldng class (Loodoo,
limo AILI 00 ESI'AO
Panlhcon Books, 19(3). Nos Es!:ldos Unidos,
podcr..se-ia mmciorw' o p clssico estudo do
citldo Slqlban nuIIS""" POvei/y antifJi
I"ess, svcIaI mobU//y In anlneteenlh cen/ury
c{ly (Mass., Ha.rv.ud Uni""rsity Press, 1964).
8. Atendendo a esta rcgion3linio das
vises. b5 que citar, no caso !,:Ibno, as obras
de Ktia Queiroz Mauoso, A clt/ade de SaJrx;
dor e seu tnerCIItW no sO/Io XX (So Paulo,
HucilOC, 1978) e Bahia, sa.lo XIX: umapro.
v/ncIa nolmprlo (Rio deJ:lJleiro, NOVolFron
ceir2, 1992). As coletneas org:miz:ldas por
Ana fern:lndcs e Maroo Aurlio Gomes, Cida
de e b/st6rla. Modern1mlio das cidades brg,.
saetrasnos sa/Ios XlXe XX (S:llVoldcx, lIFBA.
1992), do conta de um >is Icgional do
Brasil como um todo, assim como a revista
Es}Jal;O e Debate. No ClSO de So !':lulo, h
quedes!:!car as teses defendidas no programa
de ua90 em Histria do Unicunp,
assim oomo a tese de livre-docncia de Raquel
GI<2A'I, Cbao de /erra: um eS/tldo sobre S60
Paulo colonial, defendido na USP em 1992.
No .."so do Rio Grande do Su regjsu-:un-se a
coletnea cxganiz:Ida por WC:lJlO P:mizzi e
J<Jo RoVoltti, Estudos urbanos: PorIO AJel"e e
se u planejamento (pono Alegre, Ed. do Uni
-.usid'dc, 1993), e os li\>COS de Sondra J...hy
p.-" ven to, Memrla Porto Alel"e: erpans e
v/liIncIas (Porto Alegre, Ed.do Uni,usidade.
1991) e Os pobres da cI4ade (Porto Alegre,
Ed. da Uni>asidadc, 1994). P:u2 o Rio de
Janeiro, cabe Iemb= os aY.U105 reoH",dos
pelo grupo que publico.. na re>ista Rio de
Janeiro ou pelos publiCles feitlS no mbitO
do IPPUR e do FundoD Co", de Rui B:ubosa.
Assim <orno a revista Rio deJanelro, os t<:xtOS
apresentados no Semirrio Rio RepubliC:lJlo,
do FundoD 0... de Rui B:ubosa (ourubro
de 1994), ttl,tra1iz;lm o seu enfoque na cida
de do Rio.
9. QuantO 1 c n.agncia do "questo urba
"
na , a>nSU.1tarOlristian TopaJov, f4[)e la 'cuc:s-
ti6n social' a los 'problemas w-banos'; los
y la poblocill de las mur6po
les a prinpios dd sigJoXX", Rev/sIa/nJerna..
cIonal de C/indas SocIaIes, Unesco, seL
1990; Micbclle PUIO "u >iUc et ses b.u
t>ourg. au XIX" si:le", em Jean Baudrlard et
ali Cllo)"M'llU el urbanlt (Paris, Espri
1993); "A la d:ou.a", du rut social: 1
1900" (Paris, o,lmonn-Lby, n02, dez. 1990).
289
ARGAN, Giulio Carla. 1992. HIsI6rIa da arte
como histriadarldade. So !':lula, Mar
tins Fon1t:S.
BACZKO, Bronislaw. 1984. Les Imt1glnalres
social/x. Paris, !':lyot .
BAUDElMRE, Charles. 1972. Les j1eurs du
mal. Paris Gallimard.
,
BEl'ijAMIN, WaJleC. 1989. Paris copitlle du
XIX" si:le'-, Le 11"", der /xuS'llr.s. Paris,
CERF.
"
BERMAN, MarshaJI. 1986. rtldo que SI6Ifdo
desmancha no ar; aavenluradamoder
"fdode. S:la !':luto, Componbia das Lc>
1r.I.S.
BOlJ.E, Willi. 1994.Afts/onomladameITjX;
Je mcdema. So !':lulo, Companbia das
Laras.
BOURDIEU, PiUle. 1980.Quesllcmsdesoc
logle. Paris, MinuiL
_-;:;-' 1982. Clt que parJer veul dire. Paris,
Fayard.
BOU JUIJON, F. 1992. Les vUlesen France au
XIX' stecle. Paris Ophrys.
,
BOUllER, Jean c)lll.lA. Oominique. 1995.
"Ouw:rture. 1 quoi pensent Ics hislDo
riens?", em Passs reromposts. Champs
el ebanJJers de I'blslOlre. Paris, Autre
mau.
CALVINO, ItIla. 1990. As cl4ades /nvlsfvels.
So !':lula, Companbia das Letr:ls.
CHARI1ER. Roger. 1989. "Le monde <omme
rp.rescntuion". Annales, v.6, nov..-dcz.
p.1513-5.
. 1990. A hlslria a./lura/: enlre prlJ,.
cor e represenlaes. lisboa, Difd.
---c.
-
1994.. "A histria hoje: d>idas, de
sa6as, ptopostJs", EstudosHlsl6rloos, nO
13, jan. -jun.
_...,..... 1994b. "L'hislOirecu1rurcJJ eaujourd'
bui", Geneses, n015.
AIIEIl, J.oui5. 1978. Gasses Iabor/eu.ses
CHEV
el dasses <ln6Cieuses Paris pendanI
la fJililtere mol/I du XIX' stede. Paris,
P1urid.
DUBY, GeOige5 (Olg.). 1983. HIs/oln! de la
/'rance urbalne. Paris, Le Seuil. 4.v.
[SllJOlK HIfIIJ(O!
290
199\/11
GERIZ, Cliffonl. 1981. A tn/erpreta<J das
culturas. Rio dcJaneiro, Gu:uub:u-a.
GINZBlJRG, Cat\o. 1987. O queijo e os ver
""'... So Paulo, Companhia das Letras.
1990. "Ra11"S de um pll"ildigrna indi
cicio", em GINZBlJRG, Carlo. Mllo, em
bkmas, sinais. So Paulo, Companhia
__o
das U::Jras.
HUNf, Lynn. 1989. 1be new cultural blslary.
Califomia. Univer.;ity of Olifornia Press.
LABAKIHE. Patrick. 1995. "Paris oommc d
ror aIlgoriquc", em AVICE, Jean Paul c
PICHOIS, Claudc (dir.). /}aI/delaire, Pa
ris, I'a/Igorle. Paris, Klincksicck.
UlNOlNEL OBSERVATEUR 1995. Paris, mar.
ll:PEIfI, Ilenurd. 1988. Les vll/es dons la
Prance moderne (1740-18-10). Paris, AI
bin Michd.
-. &
PUMAIN, Denise. 1993. Temporal/
ls urbatnes. Paris, Anthropos.
UlQlJIN, Yvcs. 1978. "Les db.1S et les tal
sions de lasocietindustrielle", em Lon,
Pia.c (ed.). Hlsloln! CXJllOm/U'! el '"
cla/e du monde, 1840-1914. Paris, As
mand Colin. t. 4.
.
LYNCH, Kcvin. 1990. A /mage""m da
lisboa, Edies 70.
cidade.
MAUSS, Maced. 1969. I12presnlaJlonsoolle<>
IIves el d/ver des dvUlsaJlons. Paris,
Ed. Minuit. (Ocuvres, 3)
MOLES, Abraham. 1984. lahyrlnlbes du oocu;
I'espace, mallere d'ucllon. Paris, lilirairic
Mridiens.
_
, 1986. "l.abyrinthe ou nbulo'se", em
-,,Es
pace Temps. Vo au centre de la
vIIIe. Eioge de l'U1'ba"II. Paris, nO 33.
_
-;-'
1978. "L'haleinc dcs bubowgs, villc,
habitlt et sant :lU XXXC siCde", Recber
cbes, nO 29.
PECHMAN, Rob<iI Moscs. 1992. "Um olhas
sobre a cidade: esrudo de imagem e do
imaginrio do Rio na formaioda moder
nidade", cmFERNANDES, AnacGOMES,
Masoo Aurlio. CIdatk e blst6rla, Salva
dor, UFBA/ ANPUB.
PERRar, Miche1le. 1981. "Les ouvriets, I'h.
bil:lt et la ville au XIX" siede", em lA
ques/Ion du loge"""" el /e mouvemenl
ouvrlerfranals. Paris, d. de la Villete.
P''''E'EMAN
'''Iln-"lU
CE, Guy. 1991. "Av.m lemonu
menu!. les p::assages: Walter Benjamin",
an BaudriJl;Jrd, Jean et alli. Clto)etl:uit
el urbanll. Paris, Esprit.
RSSEN, )obn. 1992. "'"' bisl6ria, cntce mo
demidad y post-modemidad", em CAL
UlGO, Jos Andrs (erg). New fllslary,
Nouvel/e Hlsloire; bacia tina nueva bis
tria. Madrid, Act:lS.
PINOL, Jean Luc. 1991. lo monde des vU/es
(lU XIX' sfede. Paris, Hacbeuc.
RONCAYOLO, Maced. 1990. lA vllle el ses
lellltoiTes. Paris, G3llimard.
SENNIDT, Richasd. 1992.lA vIIle vue d'oell.
Paris, Plon.
TOPALOV, Olristian. 1987. Le /ogement en
Prance; bls/()In! d'une marcbandise Im
possIb/e. Paris, P
r
...
...
s de la Fondation
Nationalc dcs Scienccs Politiqucs.
_
-,-'
1990. "De la 'cuestin social' a los
'probl= urbanos'; los reformadores y
la pob1acin de las mctr6poles a princi
pios dd siglo XX" , I12v1sla ItIIernaciona/
de Cincias SocIaIes, Unesco, Sel.
MONTIlBERT, Cltristian de. 1995.L;mposs/
b/e au/ollOm/e de I'arcbllecle. Su....
bourg, Prt'SSt'S Univcrsitaires de Scra.s.
(Recebido para publicao em
outubro de 1995)
M URARD, Lon& lYLBERMAN, Patrick. 1976.
"L:: petit b'aYo1illeur infutig;lble, villes, llsi
nes, habicllS et intimits au XXXC side'"
I12cbercbes, nO 25.
Sandra Jatahy Pesavcnto professon
tihdar de: histria do Unsil da Universid3de
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
bourg.
Você também pode gostar
- Avaliacao 5o.ano GEO 2o.bimDocumento2 páginasAvaliacao 5o.ano GEO 2o.bimcristinereis92% (37)
- MENESES, Ulpiano - Os Museus Na Era Do VirtualDocumento25 páginasMENESES, Ulpiano - Os Museus Na Era Do VirtualMichel PlatiniAinda não há avaliações
- Arquitetura Lucio CostaDocumento160 páginasArquitetura Lucio Costabelegante100% (1)
- Pensando o Espaço Do Homem by Milton SantosDocumento47 páginasPensando o Espaço Do Homem by Milton SantosLéo Silva100% (2)
- A Imagem Da Cidade - Kevin LynchDocumento119 páginasA Imagem Da Cidade - Kevin LynchMarly JacquesAinda não há avaliações
- História Concisa Do Teatro Brasileiro by Décio de Almeida PradoDocumento152 páginasHistória Concisa Do Teatro Brasileiro by Décio de Almeida Pradojanaina100% (1)
- CHARTIER, Roger - Cultura PopularDocumento14 páginasCHARTIER, Roger - Cultura PopularRaphael Figueiredo ZanelatoAinda não há avaliações
- Roger Chartier Cultura Popular Revisitando Um Conceito HistoriográficoDocumento14 páginasRoger Chartier Cultura Popular Revisitando Um Conceito HistoriográficoAnthropos1Ainda não há avaliações
- 2002 Andrade, M. M. A Vida ComumDocumento124 páginas2002 Andrade, M. M. A Vida Comummarta.andradeAinda não há avaliações
- O Esperado - Plínio SalgadoDocumento123 páginasO Esperado - Plínio SalgadoFranklin MoraisAinda não há avaliações
- Planejamento Urbano Celson Ferrari 10Documento36 páginasPlanejamento Urbano Celson Ferrari 10Dayane Borges Morais50% (4)
- MAFFESOLI Michel A Parte Do DiaboDocumento192 páginasMAFFESOLI Michel A Parte Do DiabocahenriqueAinda não há avaliações
- Luz Sobre A Idade Media de Regine PernouDocumento194 páginasLuz Sobre A Idade Media de Regine PernouthiagoalemaodepauloAinda não há avaliações
- HÁ 500 ANOS, Que MatemáticaDocumento18 páginasHÁ 500 ANOS, Que MatemáticaAna Carolina PereiraAinda não há avaliações
- Pesavento Muito Além Do Espaço Por Uma História Cultural Do UrbanoDocumento12 páginasPesavento Muito Além Do Espaço Por Uma História Cultural Do UrbanoAna DemetrioAinda não há avaliações
- 019 - Cadenos de TeatroDocumento48 páginas019 - Cadenos de TeatroHumberto Issao100% (2)
- CORTESÃO, Jaime - Fatores Democráticos PDFDocumento328 páginasCORTESÃO, Jaime - Fatores Democráticos PDFEduardo Holderle Peruzzo100% (1)
- Gilbert Durand - A Imaginação SimbólicaDocumento114 páginasGilbert Durand - A Imaginação SimbólicaMarcinha Alves100% (2)
- De Merity A Duque de CaxiasDocumento67 páginasDe Merity A Duque de CaxiasVictor Taiar100% (1)
- Nesbitt - Rowe Cidade ColagemDocumento16 páginasNesbitt - Rowe Cidade ColagemLarryAndelmoAinda não há avaliações
- MAFFESOLI Michel A Parte Do DiaboDocumento192 páginasMAFFESOLI Michel A Parte Do DiaboJu Blau100% (3)
- Olhar 8-MixDocumento120 páginasOlhar 8-MixMaria Ines DieuzeideAinda não há avaliações
- ABREU, Capistrano De. Capítulos de História ColonialDocumento16 páginasABREU, Capistrano De. Capítulos de História ColonialhenriqueAinda não há avaliações
- FREITAS, Gustavo. A Companhia Geral Do Comércio Do Brasil (1649-1720) - Subsídios para A História Econômica de Portugal e Do BrasilDocumento44 páginasFREITAS, Gustavo. A Companhia Geral Do Comércio Do Brasil (1649-1720) - Subsídios para A História Econômica de Portugal e Do BrasilLuis SantosAinda não há avaliações
- A Nação Faz 100 Anos - A Questão Nacional No Centenário Da IndependênciaDocumento138 páginasA Nação Faz 100 Anos - A Questão Nacional No Centenário Da IndependênciaFernando LopesAinda não há avaliações
- A Imagem Da Cidade - Kevin Lynch PDFDocumento95 páginasA Imagem Da Cidade - Kevin Lynch PDFMickyReaderAinda não há avaliações
- Poemídia OriginalDocumento64 páginasPoemídia OriginalLula Castello BrancoAinda não há avaliações
- POLLAK. Memória e Identidade SocialDocumento16 páginasPOLLAK. Memória e Identidade SocialLeonardo PerdigãoAinda não há avaliações
- DIX, Steffen. O Ano de 1915, Um Mundo em Fragmentos e A Normaliz - 20240227 - 0001Documento12 páginasDIX, Steffen. O Ano de 1915, Um Mundo em Fragmentos e A Normaliz - 20240227 - 0001amaral.andreAinda não há avaliações
- Início Do TrabalhoDocumento7 páginasInício Do TrabalhoGABRIEL LUZ DE OLIVEIRAAinda não há avaliações
- Bizâncio Cronologia MMSDocumento277 páginasBizâncio Cronologia MMSManoel Mello SouzaAinda não há avaliações
- Cidade Vermelha. A Militância Comunista Nos Espaços Do Trabalho. Camocim-Ce (1927-1950)Documento127 páginasCidade Vermelha. A Militância Comunista Nos Espaços Do Trabalho. Camocim-Ce (1927-1950)oscarmouraAinda não há avaliações
- Adolescencia e Pós ModernidadeDocumento38 páginasAdolescencia e Pós ModernidadebaramuchiAinda não há avaliações
- Utopias Tecnologicas Distopias Ecologica PDFDocumento295 páginasUtopias Tecnologicas Distopias Ecologica PDFLaís Souza0% (1)
- 20 Edificios Que Todo Arquiteto Deve Compreender-139-150Documento12 páginas20 Edificios Que Todo Arquiteto Deve Compreender-139-150lalecrimAinda não há avaliações
- Dossier Temático de Português - A CIDADEDocumento16 páginasDossier Temático de Português - A CIDADEGabriel SilvaAinda não há avaliações
- Agiologio Lusitano Dos Sanctos e VaroensDocumento804 páginasAgiologio Lusitano Dos Sanctos e VaroensaamluisAinda não há avaliações
- O Ideário: DE Manezinho DO BispoDocumento114 páginasO Ideário: DE Manezinho DO BispoPatrícia MarcianoAinda não há avaliações
- Diabruras Do Saci Mário ChagasDocumento11 páginasDiabruras Do Saci Mário ChagasCláudioAinda não há avaliações
- Santaella - 2007 - DO TEXTO IMPRESSOÀ HIPERMÍDIADocumento43 páginasSantaella - 2007 - DO TEXTO IMPRESSOÀ HIPERMÍDIAClaudia Regina CamargoAinda não há avaliações
- (Aula 6) PIAULT, Marc - Uma Antropologia-Diálogo - À Propósito Do Filme de Jean Rouch Moi, Un NoirDocumento8 páginas(Aula 6) PIAULT, Marc - Uma Antropologia-Diálogo - À Propósito Do Filme de Jean Rouch Moi, Un NoirLuciano de Mello SilvaAinda não há avaliações
- Memória Coletiva e Sincretismo Científico-Renato OrtizDocumento17 páginasMemória Coletiva e Sincretismo Científico-Renato OrtizLetícia FerreiraAinda não há avaliações
- Apostila EventosDocumento42 páginasApostila Eventosglauciaervano9382Ainda não há avaliações
- Memória Histórica e Conflitos Urbanos - CancliniDocumento14 páginasMemória Histórica e Conflitos Urbanos - CancliniTsukihikoAinda não há avaliações
- Marc Augé: Não-LugaresDocumento18 páginasMarc Augé: Não-Lugaresjade de castro bernardoAinda não há avaliações
- DOMINGUES, MATOS - A Prática de Navegar PDFDocumento33 páginasDOMINGUES, MATOS - A Prática de Navegar PDFAna CAinda não há avaliações
- Pãisage: UabwnaDocumento200 páginasPãisage: UabwnaAmonRahAinda não há avaliações
- Antonio Candido Poesia Documento e Historia EnsaioDocumento9 páginasAntonio Candido Poesia Documento e Historia EnsaioKamila BorgesAinda não há avaliações
- MORSE, R As Cidades Perifericas Como Arenas Culturais PDFDocumento21 páginasMORSE, R As Cidades Perifericas Como Arenas Culturais PDFJoana MelloAinda não há avaliações
- Literatura e interartes - rearranjos possíveis: Volume 2No EverandLiteratura e interartes - rearranjos possíveis: Volume 2Ainda não há avaliações
- Identificação dos 'cacos poéticos urbanos' e sua caracterização como HiperconcretismoNo EverandIdentificação dos 'cacos poéticos urbanos' e sua caracterização como HiperconcretismoAinda não há avaliações
- Manguebeat: A Cena, o Recife e o MundoNo EverandManguebeat: A Cena, o Recife e o MundoAinda não há avaliações
- 2017 05 Normas Revista Cientifica FAESADocumento5 páginas2017 05 Normas Revista Cientifica FAESAGabriel HaddadAinda não há avaliações
- PPP PedagoDocumento338 páginasPPP Pedagojoao100% (1)
- Adaptação PsicológicaDocumento11 páginasAdaptação PsicológicaSheila Melo de OliveiraAinda não há avaliações
- Demasiada Felicidade - Alice MunronDocumento6 páginasDemasiada Felicidade - Alice MunronCristina MemetAinda não há avaliações
- Questões Charges e TirinhasDocumento7 páginasQuestões Charges e TirinhasSb__100% (1)
- Prova 11 - Profissional Júnior - Formação Analista de Sistemas - Ênfase em Java - CRM e WebDocumento19 páginasProva 11 - Profissional Júnior - Formação Analista de Sistemas - Ênfase em Java - CRM e WebWallace GonçalvesAinda não há avaliações
- RESENHA - Faça o Hoje Valer A PenaDocumento5 páginasRESENHA - Faça o Hoje Valer A PenaFábioPereiraAinda não há avaliações
- 02 Nocoes de InformaticaDocumento341 páginas02 Nocoes de InformaticaNatália AragãoAinda não há avaliações
- Genero Sexualidade e Educacao Guacira Lopes LouroDocumento15 páginasGenero Sexualidade e Educacao Guacira Lopes LouroniviamariaAinda não há avaliações
- REAIS DR Margarida Costa AndradeDocumento32 páginasREAIS DR Margarida Costa AndradeCarolina LagoelaAinda não há avaliações
- Projeto de Mestrado - UfuDocumento9 páginasProjeto de Mestrado - UfuCarlosDelmiroAinda não há avaliações
- Guiao A Beira Do Lago Dos EncantosDocumento7 páginasGuiao A Beira Do Lago Dos EncantosConceicao MousinhoAinda não há avaliações
- Resenha Critica - o ProgressoDocumento3 páginasResenha Critica - o ProgressoErickson FernandoAinda não há avaliações
- Abraham Maslow Completo CertoDocumento29 páginasAbraham Maslow Completo CertoDébora Marques100% (1)
- Enviando Download-24457-Comunicação Além Das Diferenças 1-943070Documento31 páginasEnviando Download-24457-Comunicação Além Das Diferenças 1-943070Caroline SpositoAinda não há avaliações
- LKCLÇKCLVKCLÇBKDocumento2 páginasLKCLÇKCLVKCLÇBKRaianne RaquelAinda não há avaliações
- Estrela TrianguloDocumento1 páginaEstrela TrianguloPedro LucasAinda não há avaliações
- Manual de Cablagem Estruturada-FSDocumento15 páginasManual de Cablagem Estruturada-FSfsemineloAinda não há avaliações
- Plano EscolarDocumento54 páginasPlano EscolarIsael LopesAinda não há avaliações
- Com Giz e Laptop o Projeto Conexão Professor e A Prática Pedagógica PDFDocumento198 páginasCom Giz e Laptop o Projeto Conexão Professor e A Prática Pedagógica PDFBruno de SouzaAinda não há avaliações
- Notícia ExplicativaDocumento22 páginasNotícia Explicativaabelbernardo73Ainda não há avaliações
- Slides Metodologia Pesquisa JurídicaDocumento32 páginasSlides Metodologia Pesquisa JurídicaPaulo PereiraAinda não há avaliações
- Nervos OculomotoresDocumento57 páginasNervos OculomotoresPriscila Ivanchuk DamianAinda não há avaliações
- 17 Ppra 2017 2018Documento48 páginas17 Ppra 2017 2018Felipe Silva de MedeirosAinda não há avaliações
- Luiz Gonzaga Pinheiro - Mediunidade - Temas Indispensaveis para Os EspiritasDocumento104 páginasLuiz Gonzaga Pinheiro - Mediunidade - Temas Indispensaveis para Os Espiritasjosewilton6731100% (2)
- Ministério de Obras Públicas Do ChileDocumento15 páginasMinistério de Obras Públicas Do ChileCamila SoteroAinda não há avaliações
- Rayleigh RitzDocumento14 páginasRayleigh RitzEduardo Barragan ParadaAinda não há avaliações
- A História Do FuncionalismoDocumento5 páginasA História Do FuncionalismoTayanan MedeirosAinda não há avaliações
- Resolução Pge No 4.407 de 10 de Junho de 2019Documento1 páginaResolução Pge No 4.407 de 10 de Junho de 2019izabelaparis-1Ainda não há avaliações