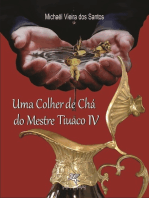Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Estrela Do Norte Iluminando Ate o Sul
A Estrela Do Norte Iluminando Ate o Sul
Enviado por
CarlyleZamithDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Você também pode gostar
- Chamadas de ABERTURA Dos Trabalhos Da Fraternidade Rosa Da VidaDocumento2 páginasChamadas de ABERTURA Dos Trabalhos Da Fraternidade Rosa Da VidaThiago C. Gomes95% (22)
- União Do VegetalDocumento6 páginasUnião Do VegetalFabiano Fortes Prates89% (9)
- 9 VegetalDocumento3 páginas9 VegetalCesar Vasconcellos92% (12)
- Jardim Das Flores O Livro Do VegetalDocumento134 páginasJardim Das Flores O Livro Do VegetalCarlos Eduardo Pereira94% (31)
- Jose Laercio Do Egito SalomaoDocumento63 páginasJose Laercio Do Egito SalomaoItaloMA75% (4)
- OaskaDocumento7 páginasOaskaJuciel Lima dos Santos50% (2)
- Estória de Uma Persistente e Corajosa Mariposa Que Durante Toda A Sua Existência Dedicou Sua Vida A Dançar Cada Vez Mais Próxima de Uma Estrela Encantadora Chamada LupunamantaDocumento2 páginasEstória de Uma Persistente e Corajosa Mariposa Que Durante Toda A Sua Existência Dedicou Sua Vida A Dançar Cada Vez Mais Próxima de Uma Estrela Encantadora Chamada Lupunamantaludierludy80% (5)
- Cartilha Manual Pr+ítico para Plantio Mariri e Chacrona - Julio C+®sar J+ NiorDocumento36 páginasCartilha Manual Pr+ítico para Plantio Mariri e Chacrona - Julio C+®sar J+ NiorAnonymous Xd360xRnD100% (2)
- O SER Jose Laercio Do EgitoDocumento94 páginasO SER Jose Laercio Do EgitoTacia Rocha100% (4)
- Ceu Da Ayahuasca e Joao BrandinhoDocumento4 páginasCeu Da Ayahuasca e Joao BrandinhoHelio Marcellus Honorio CarlosAinda não há avaliações
- José Gabriel Da Costa: Trajetória de Um Brasileiro, Mestre e Autor Da União Do VegetalDocumento9 páginasJosé Gabriel Da Costa: Trajetória de Um Brasileiro, Mestre e Autor Da União Do VegetalRacquell Silva Narducci50% (2)
- Chamadas de ABERTURA Dos Trabalhos Da Fraternidade Rosa Da VidaDocumento2 páginasChamadas de ABERTURA Dos Trabalhos Da Fraternidade Rosa Da VidaAmaury JustinoAinda não há avaliações
- Cartilha Plantio e Cultivo de Mariri e ChacronaaDocumento23 páginasCartilha Plantio e Cultivo de Mariri e Chacronaanicole dominguesAinda não há avaliações
- A Religiao Do SentirDocumento10 páginasA Religiao Do SentirEloi Di Magalhães100% (1)
- O Uso Da Ayahuasca e A Experiência de Transformação, Alívio e Cura Na UDVDocumento152 páginasO Uso Da Ayahuasca e A Experiência de Transformação, Alívio e Cura Na UDVguedes_filho9176100% (11)
- Carta de Princípios Das Entidades AyahuasqueirasDocumento2 páginasCarta de Princípios Das Entidades Ayahuasqueirasguedes_filho9176100% (3)
- BRISSAC, Sérgio. A Estrela Do Norte Iluminando Até o SulDocumento163 páginasBRISSAC, Sérgio. A Estrela Do Norte Iluminando Até o SulJoão Carlos Bemerguy Camerini50% (2)
- Sexo ProlongadoDocumento6 páginasSexo ProlongadoHigino Mainini50% (2)
- Manual Do Educador SocioemocionalDocumento5 páginasManual Do Educador SocioemocionalCaroline Souza Garcia100% (2)
- José Gabriel Da CostaDocumento9 páginasJosé Gabriel Da Costaguedes_filho9176100% (6)
- Experiências Com A (Pá) Lavra Na União Do VegetalDocumento185 páginasExperiências Com A (Pá) Lavra Na União Do VegetalFelipe Facklam100% (1)
- UDV Perguntas e RespostasDocumento4 páginasUDV Perguntas e Respostaskroedel100% (3)
- José Gabriel Da CostaDocumento13 páginasJosé Gabriel Da Costamktb195764Ainda não há avaliações
- Encantamento e Disciplina Na Uniao Do Vegetal - RosaDocumento21 páginasEncantamento e Disciplina Na Uniao Do Vegetal - RosaTxai Evan Brandao100% (1)
- Tempos e Saúde Na União Do VegetalDocumento162 páginasTempos e Saúde Na União Do VegetalSaulo Saulo100% (1)
- Chão Da RosaDocumento29 páginasChão Da RosaEduardo TronconiAinda não há avaliações
- "Beber Na Fonte" Adesão e Transformação Na União Do VegetalDocumento273 páginas"Beber Na Fonte" Adesão e Transformação Na União Do VegetalLenço De Seda Cecab100% (1)
- Aniversário Do Mestre Gabriel 2011Documento20 páginasAniversário Do Mestre Gabriel 2011yyzmiller100% (1)
- O Palácio JuramidamDocumento194 páginasO Palácio Juramidamguedes_filho9176100% (2)
- Oaska PDFDocumento180 páginasOaska PDFHelio Marcellus Honorio CarlosAinda não há avaliações
- Lições Da Ayahuasca Na AEUDV Pernambucana - TXT - Wagner - Cadernos - UFSC - 2010Documento35 páginasLições Da Ayahuasca Na AEUDV Pernambucana - TXT - Wagner - Cadernos - UFSC - 2010Wagner Lira0% (1)
- Universidade de Brasília Pós-Graduação em Geografia: Território E Rede Da União Do VegetalDocumento517 páginasUniversidade de Brasília Pós-Graduação em Geografia: Território E Rede Da União Do VegetalHelder MunayAinda não há avaliações
- O Mensageiro de Deus 2Documento183 páginasO Mensageiro de Deus 2Manoel Sena CostaAinda não há avaliações
- A Missão Cósmica de SalomãoDocumento12 páginasA Missão Cósmica de SalomãoGrecoCruz0% (1)
- Encantamento Udv RosaDocumento21 páginasEncantamento Udv RosaLucas Nascimento100% (1)
- Aioasca o LSD Da AmazôniaDocumento3 páginasAioasca o LSD Da AmazôniaGloria Ribeiro Borges100% (1)
- Cartilha Do Departamento de Pesquisa Plantio e Cultivo de Mariri e ChacronaDocumento23 páginasCartilha Do Departamento de Pesquisa Plantio e Cultivo de Mariri e ChacronaRicardo Nascimento100% (1)
- Greganich Santo Daime Udv TrajetoriasDocumento301 páginasGreganich Santo Daime Udv TrajetoriasCamila de PieriAinda não há avaliações
- Encontro Do Mestre Irineu Com A AyahuascaDocumento39 páginasEncontro Do Mestre Irineu Com A Ayahuascaguedes_filho9176Ainda não há avaliações
- Os SonhosDocumento58 páginasOs SonhosAPPARATOR100% (4)
- Sessão UDVDocumento383 páginasSessão UDVLuz MarkentingAinda não há avaliações
- Farmacologia Humana Da Oasca - Chá Preparado de PlantasDocumento15 páginasFarmacologia Humana Da Oasca - Chá Preparado de Plantasguedes_filho9176100% (5)
- Ayahuasca - A Consciência Da ExpansãoDocumento47 páginasAyahuasca - A Consciência Da ExpansãoMateus ViníciusAinda não há avaliações
- Eugenia: Gênero, Sexualidade e Reprodução no México (1920-1940)No EverandEugenia: Gênero, Sexualidade e Reprodução no México (1920-1940)Ainda não há avaliações
- 2011 CarlosAndradeRivasGutierrez VRevDocumento189 páginas2011 CarlosAndradeRivasGutierrez VRevtroll87Ainda não há avaliações
- Telles Los Mazatecos y El Catolicismo ContemporaneoDocumento347 páginasTelles Los Mazatecos y El Catolicismo ContemporaneoChokopanda ChamakoAinda não há avaliações
- Arte - Loucurae Politica No BrasilDocumento172 páginasArte - Loucurae Politica No BrasilGabriel GoncalvesAinda não há avaliações
- Mulheres MetodistaDocumento240 páginasMulheres MetodistaFernanda Cruz100% (1)
- AssentamentosJuremaSagrada Oliveira 2021Documento193 páginasAssentamentosJuremaSagrada Oliveira 2021Georges SalloumeAinda não há avaliações
- A Arte Visionária e A AyahuascaDocumento322 páginasA Arte Visionária e A AyahuascaRocha JessicaAinda não há avaliações
- Etnografia Do Vodu No Haiti PDFDocumento326 páginasEtnografia Do Vodu No Haiti PDFJosé LaertonAinda não há avaliações
- Andresa BarrosDocumento95 páginasAndresa BarrosRamon AlcântaraAinda não há avaliações
- Libertação e Diálogo - A Articulação Entre A Teologia Da Libertação e A Teologia Do Pluralismo Religioso em Leonardo BoffDocumento476 páginasLibertação e Diálogo - A Articulação Entre A Teologia Da Libertação e A Teologia Do Pluralismo Religioso em Leonardo BoffEduardo RosalAinda não há avaliações
- TESE MELZITA 08 Junho 2016 2017Documento493 páginasTESE MELZITA 08 Junho 2016 2017Melissa OliveiraAinda não há avaliações
- TESE José Wellington de Oliveira MachadoDocumento602 páginasTESE José Wellington de Oliveira MachadoFlávia HolandaAinda não há avaliações
- Kowai e Os Nascidos: A Mitopoese Do Parentesco Baniwa - JViannaDocumento397 páginasKowai e Os Nascidos: A Mitopoese Do Parentesco Baniwa - JViannaJoão ViannaAinda não há avaliações
- Aline Moreira Magalhães - Tupinambá de OlivençaDocumento151 páginasAline Moreira Magalhães - Tupinambá de OlivençaThiago FlorencioAinda não há avaliações
- S CuraDocumento301 páginasS CuraAtentia SentipensanteAinda não há avaliações
- Versao Final Tese Polyana Word 1Documento218 páginasVersao Final Tese Polyana Word 1Fill MaiaAinda não há avaliações
- Ruido 101213095615 Phpapp01Documento15 páginasRuido 101213095615 Phpapp01fabrizioAinda não há avaliações
- 1 Atividade Show Da LunaDocumento42 páginas1 Atividade Show Da LunaSimoneHelenDrumondAinda não há avaliações
- Odu: OkaranDocumento4 páginasOdu: OkarannutribrunoAinda não há avaliações
- Carl Gustav JungDocumento26 páginasCarl Gustav JungWallace ArêasAinda não há avaliações
- Uma Entrevista InesquecívelDocumento2 páginasUma Entrevista InesquecívellifeplanAinda não há avaliações
- O Mito AfricanoDocumento7 páginasO Mito AfricanoOlavo SoleraAinda não há avaliações
- Hábitus ClivadoDocumento4 páginasHábitus ClivadoMarco Silva100% (1)
- Catálago de PsicopedagogiaDocumento32 páginasCatálago de Psicopedagogiaezequielrs100% (1)
- O Processo de EnfermagemDocumento9 páginasO Processo de EnfermagemthatyannaferrazAinda não há avaliações
- 17 Alunos Prova Recuperação 2 Serie Produção 2º Bim.Documento3 páginas17 Alunos Prova Recuperação 2 Serie Produção 2º Bim.Oziel SoaresAinda não há avaliações
- O Que É Mal de ParkinsonDocumento28 páginasO Que É Mal de ParkinsonKisha ChavezAinda não há avaliações
- Formacao Disc Capdf 18017166Documento4 páginasFormacao Disc Capdf 18017166Leonardo VieiraAinda não há avaliações
- A Carta de Atenas e Os CIAMSDocumento32 páginasA Carta de Atenas e Os CIAMSisabelaAinda não há avaliações
- Beleza RealDocumento81 páginasBeleza RealJaqueline Gomes de Jesus100% (1)
- RP - Português - 8º AnoDocumento5 páginasRP - Português - 8º AnoAndré AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Fundamentos Universais D OReiki - Conrado - SegalDocumento27 páginasFundamentos Universais D OReiki - Conrado - SegalAlan DemarcosAinda não há avaliações
- Mulheres BrilhantesDocumento19 páginasMulheres BrilhantesSimone Benitez100% (1)
- Relato de Projeto Com MinhocasDocumento8 páginasRelato de Projeto Com MinhocasLucas Da Silva MartinezAinda não há avaliações
- Essencialismo e Construtivismo, Balanço Teórico HeilbornDocumento40 páginasEssencialismo e Construtivismo, Balanço Teórico HeilbornManoel MotaAinda não há avaliações
- Politicas Publicas - EducacaoDocumento17 páginasPoliticas Publicas - EducacaoPosto AripuananAinda não há avaliações
- Genio Da Lingua PortuguesaDocumento3 páginasGenio Da Lingua Portuguesactp hodayahAinda não há avaliações
- Francisco Teixeira PensandocomMarxDocumento301 páginasFrancisco Teixeira PensandocomMarxHerbertt LimaAinda não há avaliações
- RevsitaCadernosDeCampo PDFDocumento443 páginasRevsitaCadernosDeCampo PDFNatalia QuicenoAinda não há avaliações
- A Educadora No Nido MontessoriDocumento12 páginasA Educadora No Nido MontessoriNubia Fernandes100% (1)
- Filosofia 2Documento14 páginasFilosofia 2Rose LimaAinda não há avaliações
- 3oANO - Semio.aula - Exame Neurologico - 2006Documento57 páginas3oANO - Semio.aula - Exame Neurologico - 2006deborakcds100% (1)
- Artigo Contos Proibidos Do Marquês de SadeDocumento12 páginasArtigo Contos Proibidos Do Marquês de SadeReginâmioAinda não há avaliações
A Estrela Do Norte Iluminando Ate o Sul
A Estrela Do Norte Iluminando Ate o Sul
Enviado por
CarlyleZamithTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Estrela Do Norte Iluminando Ate o Sul
A Estrela Do Norte Iluminando Ate o Sul
Enviado por
CarlyleZamithDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A ESTRELA DO NORTE ILUMINANDO AT O SUL
U MA E TNOGRAFIA DA U NIO DO V EGETAL
EM UM CONTEXTO URBANO
Srgio Ges Telles Brissac
Universidade Federal do Rio de Janeiro Museu Nacional Programa de Ps-Graduao em Antropologia Social
Dissertao de Mestrado
Orientador: Prof. Dr. Otvio Velho
Rio de Janeiro 1999
A ESTRELA DO NORTE ILUMINANDO AT O SUL
UMA ETNOGRAFIA DA UNIO DO VEGETAL EM UM CONTEXTO URBANO
Srgio Ges Telles Brissac
Dissertao de Mestrado submetida ao corpo docente do Programa de PsGraduao em Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessrios obteno do grau de Mestre.
Aprovada por:
___________________________________________________ Prof. Dr. Otvio Guilherme Cardoso Alves Velho
- Orientador
___________________________________________________ Prof. Dr. Luiz Fernando Dias Duarte
___________________________________________________ Profa Dra Regina Novaes
Rio de Janeiro 1999
Brissac, Srgio Ges Telles A Estrela do Norte iluminando at o Sul: uma etnografia da Unio do Vegetal em um contexto urbano / Srgio Ges Telles Brissac. Rio de Janeiro: UFRJ / MN / PPGAS, 1999. IX, 148 p. il. 30 cm. Dissertao - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, Programa de Ps-Graduao em Antropologia Social.
1. Antropologia.
2. Ayahuasca.
3. Religio - Brasil -
Unio do Vegetal. I. Ttulo.
A Jos Gabriel da Costa, Mestre e Autor da Unio do Vegetal
A Lyzette, minha me, e Ney, meu pai, por toda a fora, a coragem e o amor que vm me transmitindo
MINHA GRATIDO
- Ao meu orientador Prof. Otvio Velho, por sua amizade, compreenso e estmulo, e por ter, com a sua inspiradora sensibilidade religio, me iniciado nos caminhos da Antropologia - Aos professores Pierre Sanchis, Regina Novaes e Leila Amaral Luz, que me animaram e apoiaram por ocasio da entrada no mestrado - Ao Prof. Carlos Alberto Afonso, por sua generosidade e pelo precioso auxlio no momento da concluso deste texto - Aos meus professores no curso de mestrado em Antropologia, Luiz Fernando Dias Duarte, Gilberto Velho, Moacir Palmeira, Jos Srgio Leite Lopes, Carlos Fausto, Luis de Castro Faria e Michael Heckenberger - CAPES, que me concedeu a bolsa de estudos para o mestrado - A Thas Martins Echeverria, amiga que me apresentou Unio do Vegetal em Campinas e com carinho vem me acompanhando - Aos colegas no estudo das religies ayahuasqueiras Luis Eduardo Luna, Afrnio Patrocnio de Andrade, Bia Labate, Wladimyr Sena do Arajo, Sandra Goulart, Edward MacRae e Clodomir Monteiro, Gustavo Pacheco e Benny Shanon - A Cristina Patriota de Moura, pela sua amizade e valioso apoio - Aos meus colegas de mestrado Maria Macedo Barroso, Joo Felipe Gonalves, Laura Masson, , Valria Torres da Costa e Silva, Edmundo Marcelo Pereira, Hyppolite Brice Sogbossi, Hernan Gmez, Jorge Fernando Pantalen, Jos Gabriel Corra, Pedro Alvim Leite Lopes, Ayrton Jos Germano e Andr Luiz Correia Loureno - Aos funcionrios da Secretaria e da Biblioteca do PPGAS: Tnia Lcia Ferreira da Silva, Aurora Fernandes, Vera Gutierrez, Adilson Moreira Fontenelle, Rosa Maria Gonalves Pereira, Isabel Cristina de Souza Mello, Washington Rodrigues da Silva, Rita de Souza Santos Saraiva, Maria Izabel Wernesbach Moreira, Lourdes Cristina Arajo Coimbra e Carla Regina Paz de Freitas, pela ateno e disponibilidade em auxiliar - Ao P. Aloir Pacini, companheiro na Antropologia e na Companhia de Jesus, pela fora e pelo estmulo na caminhada - Companhia de Jesus, que vem me apoiando na realizao deste trabalho, na pessoa do P. Francisco Ivern, Provincial que me confirmou no direcionamento para a Antropologia, e do P. Jos Antonio Netto de Oliveira, atual Superior da Provncia do Brasil Centro-Leste - Aos Padres Donizetti Tadeu Venncio, Luiz Fernando Klein, Jos Luis Fuentes, Acir Miranda, Valdeli Costa, Spencer Custdio Filho e ao Ir. Antnio Marques, meus companheiros de comunidade - Aos Padres Luiz AntnioMonnerat, Walter Salles e toda a comunidade do Noviciado de Campinas, que com carinho me acolheu nos trs meses do trabalho de campo - Aos Padres Henrique de Lima Vaz, Ulpiano Vzquez, Joo Batista Libnio e demais professores do CES-SJ pela formao filsofico-teolgica que recebi - Unio do Vegetal, na pessoa do Mestre Jos Luiz de Oliveira, Mestre da Origem e Assistente do Mestre Geral Representante, pelo apoio e amizade
- Ao Mestre Raimundo Monteiro de Souza, que primeiramente acolheu minha proposta de estudar os discpulos da UDV, quando Mestre Geral Representante, ao Mestre Florncio Siqueira de Carvalho, atual Mestre Geral Representante e ao Mestre Clvis Cavalieri Carvalho, Mestre Central da 5 Regio - Ao Mestre Edison Saraiva Neves, Presidente da Diretoria Geral da UDV, e ao Mestre Raimundo Nonato Marques, ex-Mestre Geral Representante, pela confiana que em mim depositaram, autorizando esta pesquisa - A toda a irmandade do Ncleo Alto das Cordilheiras, pela generosa acolhida, pela amizade e pelo seu auxlio, fundamental para a realizao deste trabalho; especialmente sou muito grato aos Mestres Spencer, Srgio, Fernando, Mauro e Luiz Fernando; s Conselheiras Lcia, ris, Ilka e Zezinha; ao Conselheiro Vagner e minha amiga Nlia - Conselheira Lcia Gentil pela dedicao e carinho com que acompanhou meu trabalho - A Ernesto Boccara, Spencer Pupo Nogueira, Maria Carolina Santos e Fernando Ramos, por possibilitarem a todos que lerem este trabalho uma viso da beleza de sua arte - Conselheira Ivone Meno e ao Conselheiro Renato Palet, do Departamento de Memria e Documentao do CEBUDV, pelo importante auxlio; ao Mestre Mrcio da Rs e equipe do escritrio da Diretoria Geral, pelos dados do censo; a Jos Clvis Santos e Mestre Yuugi Makiuchi, pelas fotos - A Fernando Polignano, Marco Aurlio e Maria Amlia Ramos, Marcelo Muniz e Maria Clia Furtado, Jorge e Ftima Cond, Antonio Honorio, Victor Sabbagh, Paulo Bourroul, Luis Antonio e Lacy, Bruno e Michelle Wider, Carlos Queiroz, Jos Luis Petruccelli, Jos Augusto Pdua, Myrna do Rego Monteiro, Luiz Eduardo Parreiras e Oraida de Souza, Marcelo e Mrcia Cunha, Guilherme Oberlaender, Jos Renato Pessoa, Henrique Boechat de Lacerda, Celina Sodr e tantos amigos da Unio do Vegetal... - A Luiz Dar, Tereza Moreira e Nei, atravs de quem cheguei a conhecer a Unio do Vegetal, pela amizade fiel - A Maria Ferreira, Nilton Lencio, Jandira, Joo, Antonieta, Arlinda, Paulo e todos os meus irmos e irms da Comunidade Nossa Senhora Aparecida, na Rocinha, com quem venho celebrando a f nestes trs anos no Rio de Janeiro - Ir. Maria de Lourdes do Sagrado Corao de Jesus, Neuza Cazula, Denair e Therezita, pelas oraes - A Vera Lcia Garcia Medeiros, Lindalva Vitor Ferreira Alves, Marli Ana Camilo, Carlos Alberto Pern e todos os funcionrios da Residncia Joo XXIII - A Helcio, Lise, Denise, Ana Lcia, Amaral, Leopoldo, Ana Paula e todos os amigos - A Juliana, minha irm querida, Mariza, Vi, Leonor, Carmen, Christiana e toda a minha famlia, pelo carinho para comigo - A Jailton Gomes de Jesus, por ser o amigo que
RESUMO
Esta dissertao apresenta a etnografia de um ncleo da Unio do Vegetal (UDV), religio brasileira fundada em 1961, na Amaznia, por Jos Gabriel da Costa e atualmente disseminada pelo territrio brasileiro. A UDV tem como elemento central de seu ritual a ingesto de um ch denominado Hoasca ou Vegetal, preparado com duas plantas: o cip mariri (Banisteriopsis caapi) e o arbusto chacrona (Psychotria viridis). Esse ch, de propriedades psicoativas, utilizado amplamente na Amaznia ocidental, sendo tambm denominado ayahuasca, yaj e Daime. A pesquisa de campo foi realizada em um contexto urbano, estudando-se, em 1998, o Ncleo Alto das Cordilheiras, em Campinas, So Paulo. Atravs dessa etnografia, buscase captar a estrutura matricial da UDV, os seus aspectos constitutivos. Estes so identificados segundo um esquema tridico: o modelo organizacional, a narrativa histrica e a experincia simblica. O primeiro captulo apresenta a estrutura institucional do Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal; o segundo traa o itinerrio histrico da sua formao, a partir das narrativas dos participantes; e o terceiro aborda a vivncia dos discpulos urbanos da UDV, apontando para a originalidade da experincia religiosa com o ch Hoasca, que plasma a matriz da Unio do Vegetal.
ABSTRACT
This dissertation presents the ethnography of a nucleus of the Unio do Vegetal (UDV), a Brazilian religion founded in 1961 in the Amazon region by Jos Gabriel da Costa and now spread throughout the Brazilian territory. The UDV has as the central element of its ritual the ingestion of a tea denominated Hoasca or Vegetal, made from two plants: the liana mariri (Banisteriopsis caapi) and the shrub chacrona (Psychotria viridis). This tea, with psychoactive properties, is widely utilized in the western Amazon region, and it is also called ayahuasca, yaj and Daime. The field work involved was carried out within an urban context in Campinas, State of So Paulo, Brazil, in 1998, the Ncleo Alto das Cordilheiras being the object of this study. By this ethnography, it is sought to grasp the matrix structure of the UDV, its constitutive aspects. These are identified according to a triadic scheme: the organizational model, the historic narrative and the symbolic experience. The first chapter deals with the institutional structure of the Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal (Beneficent Spiritualist Center Unio do Vegetal); the second traces the historic itinerary of its formation, originating from the narratives of its participants; and the third exposes the experience of the urban disciples of the UDV, thereby pointing to the originality of the religious experience with the Hoasca tea which moulds the matrix of the UDV.
SUMRIO
INTRODUO ......................................................................................................... p. 1
1. GEOMETRIA DA ESTRELA
1.1. 1.2. 1.3. ESTRUTURA INSTITUCIONAL DA UNIO DO VEGETAL ........................p. 8 O NCLEO ALTO DAS CORDILHEIRAS EM CAMPINAS .........................p. 23 OS DISCPULOS DO ALTO DAS CORDILHEIRAS ......................................p. 37
2. A ESTRELA DO NORTE
2.1. 2.2. 2.3. A VIDA DE MESTRE GABRIEL ...................................................................p. 50 OS PRIMEIROS ANOS DA UNIO DO VEGETAL EM PORTO VELHO ...p. 64 A PRESENA DA UDV EM SO PAULO A PARTIR DOS ANOS 70 ........p. 80
3. A ESTRELA ILUMINANDO
3.1. 3.2. 3.3. ALGUMAS HISTRIAS DE VIDA ..................................................................p. 87 ALCANAR O ALTO DAS CORDILHEIRAS ..............................................p. 100 O ENGLOBAMENTO NA FORA DA BURRACHEIRA ...............................p.131
CONCLUSO: O ITINERRIO DA DISSERTAO ..............................................p.139 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ........................................................................ p.141 ANEXOS.................................................................................................................. p. 149
INTRODUO
10
Isso no falvel. As coisas assim a gente mesmo no pega nem abarca. Cabem no brilho da noite. Aragem do sagrado. Absolutas estrelas! Joo Guimares Rosa, Grande Serto - Veredas
As absolutas estrelas so consideradas inefveis pelo jaguno Riobaldo Tatarana. No entanto, ele teima em delas falar. Distendendo ao mximo as virtualidades do verbo, ele performatiza a sua busca de ultrapassagem da inefabilidade. E assim como ele, tambm os poetas cantam, os msticos balbuciam, os profetas gritam, movidos por essa aragem do sagrado. E no somente esses, mas tambm aqueles que desposaram o lgos apodeiktiks a razo demonstrativa - teimam em falar daquilo que cabe no brilho da noite. Dentre esses ltimos eu me incluo, e nesta dissertao buscarei falar da Estrela do Norte, a partir do modo como as retinas do Sul captam a luz que ela irradia. As razes desta dissertao remontam a 1992. Naquele ano, no dia 4 de julho, tive meu primeiro contato com o Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal (CEBUDV), participando de uma sesso em Campinas, Estado de So Paulo. Trinta e um anos antes, em 1961, a Unio do Vegetal (UDV) havia sido fundada na floresta amaznica, num seringal boliviano prximo fronteira com o Brasil, por Jos Gabriel da Costa, chamado por seus discpulos de Mestre Gabriel. Articulando elementos do catolicismo popular, do xamanismo amaznico, do espiritismo kardecista e dos cultos afro-brasileiros, a Unio do Vegetal tem como centro de seu ritual a ingesto de um ch denominado Hoasca ou Vegetal, preparado com duas espcies vegetais: o cip mariri (Banisteriopsis caapi) e o arbusto chacrona (Psychotria viridis). Esse ch, de propriedades psicoativas, utilizado amplamente na Amaznia ocidental, por populaes indgenas ou no, em reas do Brasil, Peru, Bolvia, Equador, Colmbia, Venezuela, recebendo diversos nomes, entre os quais, ayahuasca, yaj, Daime. Alm da Unio do Vegetal, h no Brasil vrias instituies religiosas que fazem uso ritual da mesma bebida. Essas outras correntes podem ser classificadas esquematicamente em duas vertentes: a do Santo Daime e a da Barquinha. Na
11
UDV, o uso do ch para efeito de concentrao mental1, segundo o seu Regimento Interno. A primeira sesso da qual participei em Campinas foi com o grupo que posteriormente se tornou o Ncleo Alto das Cordilheiras. Fui convidado por uma amiga, que no momento fazia mestrado em Antropologia Social na Unicamp. O grupo recebeu-me gentilmente, e me senti bem acolhido, apresentando-me como religioso catlico, membro da Companhia de Jesus. A sesso foi dirigida por uma mulher, a conselheira esposa do ento Mestre Responsvel por aquela unidade da Unio do Vegetal. O grupo havia recentemente se desmembrado do primeiro ncleo de Campinas, o Lupunamanta. E tinham sido precisamente as pessoas mais antigas na Unio do Vegetal que decidiram, diante do grande nmero de pessoas do Lupunamanta, se reunir para iniciar uma nova distribuio de Vegetal. Portanto, deparei-me com um grupo maduro, perfazendo em torno de 30 pessoas, formado em sua maior parte por gente que j bebia o ch Hoasca h alguns anos. A sesso foi brilhante e nela decidi prosseguir minha observao em ncleos do Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal, ao invs de no pequeno grupo que havia visitado anteriormente. Alguns meses antes, no dia 7 de maro de 1992, conheci pela primeira vez um grupo usurio do ch Hoasca. Nesse tempo, morava na Cidade de So Paulo e trabalhava como professor em um colgio. Fizera graduao em Filosofia e pensava em um mestrado futuro em Antropologia Social, possivelmente acerca das religies afro-brasileiras. Assim, tinha querido conhecer aquele grupo, de aproximadamente sete pessoas, que bebia o ch sem uma estrutura institucional, na medida em que haviam se distanciado de uma dissidncia da Unio do Vegetal2. Tendo participado de algumas sesses com essas pessoas, interessei-me em conhecer o grupo original, o CEBUDV, o que logo veio a acontecer naquela noite de 4 de julho do mesmo ano. Sentia-me vivenciando uma experincia de dilogo inter-religioso, partilhando com membros de uma crena diversa da minha uma busca espiritual de auto-conhecimento e abertura para o transcendente, vivenciada por eles com a mediao de um veculo considerado propiciador de uma expanso da conscincia.
1
Artigo 1o , Pargrafo nico, do Captulo I do Regimento Interno do CEBUDV. (CENTRO ESPRITA BENEFICENTE UNIO DO VEGETAL, 1994, p. 92). 2 Vide no anexo 1 o quadro das dissidncias da UDV, com informaes que obtive sobre as mesmas.
12
Em 1992, fui duas vezes na Distribuio da UDV de Campinas e depois freqentei o Ncleo Samama de So Paulo, o primeiro que foi fundado na Regio Sudeste, em 1972. Comecei a participar de cada sesso quinzenal da UDV. Tambm conheci o Santo Daime, no Rio de Janeiro, e uma dissidncia da UDV em So Paulo. Em 1993, mudei-me para Belo Horizonte e dei seqncia ao contato com a Unio do Vegetal, no Ncleo Rei Salomo. Em 1996, transferi-me para o Rio de Janeiro, para iniciar o Mestrado em Antropologia Social, e fui ordenado padre da Igreja Catlica. Mantive o contato com a UDV, freqentando as sesses do Ncleo Pupuramanta, em Vargem Pequena, Jacarepagu. Enquanto antroplogo, dava continuidade observao e reflexo acerca da UDV e enquanto ministro da Igreja Catlica, buscava vivenciar uma atitude de respeito diante da alteridade e de empenho no dilogo inter-religioso. Em 16 de agosto de 1998, voltei a Campinas, fazendo-me presente em uma sesso no Ncleo Alto das Cordilheiras, formado por aquelas pessoas que eu encontrara em 1992. Voltava como mestrando em Antropologia Social pelo PPGAS do Museu Nacional, para iniciar meu trabalho de campo. Ou melhor, este havia comeado seis anos antes, e depois desse perodo de tempo eu voltava quele grupo, com o objetivo de realizar a fase intensiva da experincia etnogrfica. Este breve recorrido de minha trajetria apenas para propiciar ao leitor alguma noo das implicaes deste percurso na construo da dissertao. Observo que a minha condio especfica, enquanto ministro ordenado de outra religio, evidentemente teve o seu impacto neste trabalho. A primeira reao das pessoas - inclusive dos discpulos da UDV - costumava ser de perplexidade: Voc padre? Estudando a Unio do Vegetal? Desse espanto inicial, ia-se s vezes para uma atitude de desconfiana: Quem ser esse a? Um espio da Igreja? Igualmente em alguns de meus companheiros jesutas pude constatar uma certa estranheza diante desse tema inslito. Felizmente, com a grande maioria das pessoas da Unio do Vegetal com quem mantive contato essas fases foram superadas com o estabelecimento de uma relao de mtuo conhecimento e confiana. E com muitas pessoas essa relao intensificou-se, na constituio de slidos e verdadeiros laos de amizade. Foram-me necessrias pacincia e
13
determinao para ir ultrapassando essas etapas. E ao longo do tempo vivi a gratificante experincia de ser acolhido, recebendo apoio, confiana e afeio de um significativo nmero de pessoas, em diversos ncleos da UDV. Assim, se no incio minha pertena a uma ordem religiosa da Igreja Catlica parecia quase inviabilizar uma pesquisa antropolgica na UDV, posteriormente, especialmente no trabalho de campo no Ncleo Alto das Cordilheiras, essa condio foi algo que at mesmo me auxiliou no relacionamento com os discpulos da Unio. Desse modo, meu lugar social de antroplogo-padre-amigo propiciou-me uma mescla de proximidade e distanciamento fecunda para a minha pesquisa e reflexo, as quais reconheo, desde j, situadas. Nesta dissertao limitar-me-ei ao estudo do Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal, renunciando a qualquer intento comparativo com as demais religies usurias da mesma bebida psicoativa. Isto no somente por carecer de uma experincia etnogrfica com as comunidades do Santo Daime ou da Barquinha, mas tambm por considerar que a Unio do Vegetal constitui um campo com uma autonomia e relevncia especficas. O programa desta dissertao apresentar a estrutura matricial da UDV, atravs da etnografia de um de seus ncleos, situado em um contexto urbano. O Ncleo Alto das Cordilheiras, em Campinas, cidade com aproximadamente 900 mil habitantes3, foi escolhido como o lugar para o trabalho de campo desta pesquisa. No que ele pudesse ser considerado como adequado para uma amostragem representativa da UDV no Brasil, nem mesmo da UDV na Regio Sudeste. Mas, tendo em vista o perfil de seus participantes, possvel consider-lo como emblemtico de um ncleo da Unio do Vegetal em um contexto urbano sob o impacto da modernidade. Ora, constata-se a tendncia de que essa estrutura matricial vem se reproduzindo cada vez mais nas grandes cidades brasileiras. Assim, a escolha desse local apresenta-se como procedente no s em termos de compreenso do momento presente da UDV no Brasil, mas tambm num enfoque prospectivo. Alm do trabalho de campo nesse ncleo, desde 1992 tive a oportunidade de conhecer quinze outras unidades do CEBUDV, situadas principalmente em reas urbanas da Regio Sudeste4. A observao desses ncleos me foi valiosa para que eu pudesse
3
Segundo o IBGE, Campinas contava em 1996 com 908.906 habitantes. Dados da contagem populacional de 1996. Disponvel na INTERNET via http://www.ibge.org/informacoes/estat1.htm. Arquivo consultado em 1999.
4
Vide, no anexo 4, a lista das unidades do CEBUDV j visitadas por mim.
14
discernir melhor que aspectos do Ncleo Alto das Cordilheiras deviam ser considerados como peculiaridades suas e quais poderiam ser vistos como indicativos de uma tendncia mais ampla da UDV em contexto urbano. Tambm foi de suma importncia para esta dissertao o acesso a fontes histricas orais diretas e indiretas, atravs de entrevistas de mestres que conviveram com o Mestre Gabriel e da pesquisa nos arquivos do Departamento de Memria e Documentao do CEBUDV, em sua Sede Geral, em Braslia. O que entendo aqui por estrutura matricial? Trata-se dos aspectos constitutivos da Unio do Vegetal, que podem ser identificados segundo um esquema tridico: o modelo organizacional, a narrativa histrica e a experincia simblica. O objetivo no fazer um mapeamento completo da organizao matricial da UDV, mas colocar a nfase sobre estes aspectos: institucional, histrico e simblico, reconhecendo, todavia, que a matriz mais vasta do que esses trs aspectos. importante considerar que o aspecto doutrinrio um elemento constitutivo essencial em toda a matriz de uma tradio religiosa. No incio de minha aproximao da Unio do Vegetal, minha inteno era estudar sua cosmologia e metafsica, a partir de sua narrativa doutrinria e de suas formulaes no ritual. Mas uma dimenso emblemtica da UDV que a partilha da doutrina parte da prpria economia simblica desta religio, em particular a proibio da divulgao desses princpios fora da comunidade ritual. Portanto, o aspecto doutrinrio no referido neste trabalho por razes de uma tica etnogrfica, segundo o modo de minha experincia de contato com a UDV. Limito-me aqui a compendiar as principais informaes acerca da doutrina, publicadas pelo prprio CEBUDV:
A Unio do Vegetal professa os fundamentos do Cristianismo, resgatando-os em sua pureza e integridade originais, livres das distores que lhes imprimiu, ao longo dos sculos, a mo humana. [...] A conseqncia mais grave desse fenmeno [fim da transmisso oral da doutrina] - um subproduto da institucionalizao do Cristianismo foi o desvio doutrinrio, que resultou na excluso de pelo menos uma Verdade de F da doutrina de Jesus Cristo, fundamental para a perfeita compreenso do conceito de Justia Divina: a reencarnao. [...] A doutrina da Unio do Vegetal crist porque sustenta que Jesus Cristo, Filho de Deus, a expresso da Divindade e Sua Palavra aponta o caminho da Salvao para a humanidade. A Unio do Vegetal cr na Virgem Maria, Nossa Senhora Imaculada, me de Jesus. [...] A Unio do Vegetal considera o
15
ch Hoasca uma ddiva de Deus, um instrumento para acelerar a caminhada evolutiva do homem, devolvendo espiritualidade a uma civilizao inebriada pela lgica cientificista. Mesmo assim, no v o ch como um fim em si mesmo, mas como um veculo para uma caminhada que exige sacrifcios e renncias e cuja base a doutrina de fundamentao crist, aprofundada pelos ensinamentos transmitidos por Mestre Gabriel. [...] Trata-se de religio que j existira na Terra, muitos sculos antes de Cristo. Sua origem data do sculo X A.C., no reinado de Salomo, rei de Israel. Por razes diretamente ligadas ao baixo grau de evoluo espiritual da humanidade na poca, a Unio do Vegetal desapareceria por longo perodo. Ressurge entre os sculos V e VI, no Peru, na civilizao Inca (cujo advento e apogeu a historiografia oficial registra apenas entre os sculos XIII e XIV). (CENTRO
ESPRITA
BENEFICENTE UNIO DO VEGETAL, 1989, p. 22.23.26.34.35). No aspecto estrutural, abordarei no apenas os elementos caractersticos da instituio denominada Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal, mas tambm indicarei certos traos estruturais da experincia com a Hoasca. A questo da histria, nesta dissertao, necessita de uma explicao. No se trata de uma historiografia da UDV, mas de uma reconstruo histrica a partir das prprias narrativas dos participantes. Esta narrativa histrica , portanto, parte do processo da representao nativa. Mas, ao mesmo tempo no se trata da narrativa fundante da Unio do Vegetal, a Histria da Hoasca, e das demais Histrias do corpus doutrinrio, na medida em que estas pertencem ao plano do domnio reservado do discurso, aquilo que indiquei como um limite desta abordagem. Assim, o termo narrativa histrica indica aqui a histria formativa da UDV, seu processo de formao e disseminao entre os anos 60 e 90, tal como descrito por seus protagonistas. Finalmente, o problema da experincia simblica a partir do uso ritual do ch Hoasca, ser descrito a partir de histrias de vida de alguns membros e de categorias fundamentais do discurso nativo, que apontaro para o que designei neste trabalho como o englobamento na fora da burracheira. A Estrela do Norte iluminando at o Sul um ttulo inspirado na Chamada Estrela do Norte, de Mestre Gabriel. A Estrela do Norte evoca a prpria Unio do Vegetal, que seus discpulos reconhecem como uma realidade que est no alto e vem iluminando os seres humanos que se encontram aqui embaixo. Assim, essa estrela, cujos raios, originrios do cu, alcanam e clareiam a terra, pareceu-me bela metfora para falar de uma
16
matriz que princpio de constituio e reproduo, um eidos - sempre corporificado - que se concretiza em contextos locais especficos. Alm disso, o binmio norte-sul pode trazer mente do leitor a origem amaznica da UDV e a sua disseminao nas terras urbanas do sul brasileiro, nas quais o Ncleo Alto das Cordilheiras se situa. Mesmo que seja para, em seguida, superar essa antinomia e compreender que, desde o incio, a dimenso urbana est presente no norte, e o norte na vivncia urbana dos discpulos do sul, numa interao dialtica. Ao longo dos sete anos de meu contato com a UDV, este foi o trabalho que resultou de um comprometimento entre pesquisa e tica etnogrfica. Desta forma, foram os aspectos da organizao institucional, a importncia da narrativa histrica como processo de autorepresentao fundacional e o acesso experincia simblica dos participantes que determinaram o percurso etnogrfico desta dissertao, na busca de um delineamento da matriz da Estrela do Norte.
4. A GEOMETRIA DA ESTRELA
17
4.1.
A ESTRUTURA INSTITUCIONAL DA UNIO DO VEGETAL
Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Fernando Pessoa, Mensagem
Certa vez, encontrei no mural de um ncleo da UDV na Cidade de So Paulo, o So Joo Batista, este verso de Fernando Pessoa que escolhi como epgrafe. O mural apresentava as atividades dos membros do ncleo na construo de seu templo definitivo. O verso de Mensagem servia de mote e estmulo para o comprometimento das pessoas com aquela obra, que eles apontavam como querida por Deus e sonhada pelo homem. E mais do que a obra de tijolos e cimento daquele templo, percebo que h entre a maioria dos discpulos da UDV o sentimento de participarem de uma obra mais ampla: a implantao e solidificao no Brasil e, na seqncia, pelo mundo afora, de uma instituio denominada Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal. Portanto, ainda que o objeto central desta dissertao seja a vivncia dos participantes urbanos da Unio do Vegetal, considero necessrio iniciar situando o leitor com alguns dados acerca da instituio qual tais participantes aderem, contribuindo para sua continuidade e expanso no Brasil urbano. Assim, neste captulo, com um corte sincrnico, brevemente abordarei como que a geometria da estrela, as linhas bsicas da estrutura dentro da qual se insere a agncia dos indivduos que observei. Os ncleos e sua organizao A UDV organiza-se, no nvel local, em ncleos. O ncleo o lugar onde se renem quinzenalmente os participantes, designados de scios, para beberem o ch Hoasca dentro de um ritual, denominado sesso. Quando uma unidade local iniciada, primeiramente chamada de distribuio autorizada, depois de pr-ncleo e s posteriormente, quando adquire uma estrutura material mais slida e um quadro de participantes na hierarquia mais amplo, que atinge o nvel de ncleo. O incio de uma distribuio autorizada costuma contar com por volta de 30 participantes. J em um pr-ncleo o nmero de scios da ordem de grandeza de 50. E um ncleo, por sua vez, pode ter desde uns 70 at por volta de 200 participantes. Porm, comum que, ao alcanar o patamar de 150 scios, o ncleo j
18
comece um processo de segmentao, pelo qual algumas pessoas se dispem a sair do ncleo e principiar uma distribuio autorizada em outro local da mesma cidade5. No aspecto espiritual, o ncleo dirigido, por um Mestre Representante. Esta funo assim nomeada porque aquele que a ocupa representa o Mestre Gabriel, fundador da UDV. O Representante integra o Quadro de Mestres (QM), o conjunto daqueles que tm a funo de comunicar a doutrina da Unio do Vegetal, designados com o nome de maior poder simblico na UDV: Mestre. Dentre os Mestres feito um rodzio a cada dois meses, para que um deles ocupe o lugar de Mestre Assistente, responsvel por assistir o Mestre Representante e os discpulos e conservar a disciplina durante o ritual. At o presente, s h uma mulher no Quadro de Mestres, Raimunda Ferreira da Costa, a Mestre Pequenina, esposa de Jos Gabriel da Costa, que foi convocada por ele ao QM. Ainda que no haja uma lei escrita da UDV vedando esse lugar s mulheres, muitos (e muitas) consideram que somente os homens podem chegar a ser mestres. Depois do Quadro de Mestres, h na hierarquia o Corpo do Conselho (CDC), formado pelos Conselheiros e Conselheiras, auxiliares dos Mestres, junto com os quais formam a Administrao do ncleo. Em seguida, h o Corpo Instrutivo (CI), formado por aqueles discpulos que j freqentam a UDV h um certo tempo e tm um compromisso de participao maior nas atividades, tendo sido convocados pelo Mestre-Representante para assistir as sesses instrutivas, vedadas aos demais scios, durante as quais so transmitidos os ensinamentos restritos da Unio do Vegetal. Por fim, h o Quadro de Scios (QS), formado por todos os discpulos que se associam ao CEBUDV. Essas classes de discpulos podem ser compreendidas de dois modos: num sentido estrito, referindo-se apenas ao segmento que designam, ou num sentido abrangente, incluindo tambm os segmentos superiores na hierarquia. Assim, num sentido estrito, os discpulos do Quadro de Scios so aqueles scios que no so do CI, nem do CDC, nem do QM. J segundo um sentido abrangente, at mesmo os mestres fazem parte do QS6. Este
5
Recentemente, houve uma mudana das diretrizes da Diretoria Geral acerca desse processo. O procedimento mais comum agora tem sido de manter o novo grupo reunido por um tempo no ncleo original. Somente quando esse grupo se torna mais numeroso e j tem adquirido um terreno para sede definitiva, que ele sai , formando um pr-ncleo, sem passar pela fase de distribuio-autorizada. 6 De acordo com o Estatuto da UDV, o quadro de filiados do Centro, entre fundadores e efetivos, compreende trs classes de scios: Mestres, Conselheiros e Discpulos. Artigo 39 do Estatuto. (CENTRO ESPRITA BENEFICENTE UNIO DO VEGETAL, 1994, p. 86). Para mais informaes a respeito da estrutura hierrquica da UDV, consultar: GENTIL, Lucia Regina Brocanello e GENTIL, Henrique Salles. O
19
duplo sentido pode ser expresso num diagrama de crculos concntricos, no qual as cores distintas indicam o sentido estrito e o desenho dos crculos, os maiores englobando os menores, indicam o sentido abrangente:
QUADRO DE MESTRES CORPO DO CONSELHO
CORPO INSTRUTIVO
QUADRO DE SCIOS
No plano material, o ncleo est sob a direo de um presidente, tambm mestre, que encabea uma diretoria (presidente, vice-presidente, 1o e 2o secretrios, 1o e 2o tesoureiros, orador oficial), eleita por todos os scios para um mandato de dois anos. diretoria cabe, entre outras funes, coordenar as atividades necessrias para a estruturao material do ncleo, tais como: obras de construo do templo, casa de preparo do Vegetal, cantina, banheiros, berrio; plantio de mariri e chacrona; eventos para a arrecadao de fundos para as obras; organizao do pagamento da mensalidade dos scios7. H ainda a
uso de psicoativos em um contexto religioso: a Unio do Vegetal. In: LABATE, Beatriz, ARAJO, Wladimyr Sena, no prelo. 7 O valor mdio da mensalidade, por todo o Brasil, de 10 % do salrio mnimo. Mas no h necessariamente o mesmo valor para todos os ncleos, podendo haver algumas variaes, de acordo com as necessidades e condies do grupo. No Ncleo Alto das Cordilheiras o valor atual da mensalidade de R$ 15,00. H tambm o Fundo de Participao, que se remete mensalmente para a Sede Geral, atualmente no valor de R$ 5,00 por pessoa. Alm disso, h a Taxa de Preparo, na ocasio em que se faz preparo (a cada 4 meses aproximadamente). O valor bem varivel, para cobrir os gastos de transporte do mariri e da chacrona e preparo do ch. Quanto a essas trs taxas, importa observar que nos casos em que o scio no pode pagar o valor completo, possvel a ele falar com os responsveis e s pagar o que estiver ao seu alcance.
20
funo da Ogan8, mulher responsvel por coordenar a arrumao do templo e sua limpeza, assim como o que se refere alimentao. Essa funo ocupada pelas Conselheiras, em rodzio com durao de dois meses. O nome desta funo uma reminescncia do tempo em que Mestre Gabriel participava de cultos afro-brasileiros, nos quais, entre os ogs, auxiliares de confiana do chefe do terreiro, h aqueles que tm a responsabilidade de zelar pela ordem, limpeza e conservao do terreiro.
A Sede Geral e os Departamentos no nvel nacional At 1982, a Sede Geral do Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal localizavase na cidade de Porto Velho, Rondnia. Naquele ano, houve a transferncia da Sede Geral para Braslia, Distrito Federal. Na Sede Geral fica o Mestre Geral Representante, autoridade mxima do CEBUDV. Ele eleito para um mandato de trs anos pelo Conselho de Administrao, formado pelos mestres representantes de todos os ncleos, os mestres da origem (aqueles que receberam do Mestre Gabriel a estrela de mestre) e mais alguns mestres da Sede Geral, reunidos em sesso. No seu aspecto material, o CEBUDV administrado por uma Diretoria Geral, eleita para um mandato de trs anos pelo mesmo Conselho de Administrao. A Diretoria Geral tem seus trabalhos dirigidos por seu Presidente, ao qual compete representar a sociedade9. H, no nvel nacional, departamentos que cuidam de reas especficas: o Departamento Jurdico, o Departamento de Memria e Documentao (DMD), o Departamento Mdico-Cientfico (DEMEC) e outros. O DMD foi chamado, a princpio, de Centro de Memria e Documentao e responsvel pela memria institucional da UDV, coleta e registra o que diz respeito s suas origens e histria do Mestre Gabriel (GENTIL, GENTIL, no prelo). Por sua vez, o DEMEC foi fundado com o nome de Centro de Estudos Mdicos (CEM) e dedica-se a assessorar a Administrao Geral nos assuntos referentes sade dos associados em todos os seus aspectos e desenvolve pesquisas biopsicofarmacolgicas em parceria com instituies cientficas nacionais e internacionais. (Id.). Em novembro de 1995, o ento CEM realizou a Conferncia Internacional de Estudos
Palavra grafada com an no Boletim da Conscincia em Organizao, 7 Parte. (CENTRO ESPRITA BENEFICENTE UNIO DO VEGETAL, 1994, p. 67). 9 Estatuto do Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal. Artigo 11. (Id., p. 81).
21
da Hoasca, no Hotel Glria, na Cidade do Rio de Janeiro. Atividade emblemtica do esforo do CEBUDV em se estruturar institucionalmente e em conquistar credibilidade diante do Estado, da opinio pblica e da comunidade cientfica, a Conferncia teve a participao de um nmero significativo de pesquisadores de instituies acadmicas nacionais e do exterior. Vinculada UDV, existe a Associao Novo Encanto de Desenvolvimento Ecolgico (ANEDE), ONG com objetivo de uma atuao ambientalista, que recebeu a doao de uma ONG norte-americana de um seringal de 8.025 hectares no Estado do Acre, o Seringal Novo Encanto. Alm dos projetos de desenvolvimento sustentvel no seringal, a ANEDE tem monitores e scios em cada unidade da UDV, os quais tem realizado iniciativas de conscientizao ecolgica no nvel local. O processo de legalizao do uso ritual da Hoasca Em 1985, a Diviso de Medicamentos do Ministrio da Sade (DIMED) incluiu o Banisteriopsis caapi em sua lista de substncias proibidas. A direo do CEBUDV dirigiuse Polcia Federal, para inform-la da interrupo do uso ritual da Hoasca em acatamento determinao do DIMED. Tambm apresentou ao Conselho Federal de Entorpecentes (CONFEN) uma solicitao de exame da questo. O Dr. Domingos Bernardo Gialuisi da Silva S, jurista conselheiro do CONFEN, foi designado presidente de um Grupo de Trabalho (GT) de conselheiros do referido rgo para estudo e elaborao de um parecer10. Os integrantes do GT realizaram visitas s comunidades usurias do ch, em Rio Branco, Acre: o Alto Santo, comunidade originria do Daime, a Colnia Cinco Mil da vertente CEFLURIS do Daime, e o Ncleo do CEBUDV. Tambm foram visitados a comunidade Cu do Mar, no Rio de Janeiro, e o Seringal Cu do Mapi, no Amazonas, ambos do CEFLURIS. Finalmente, o GT esteve no Ncleo Pupuramanta, do CEBUDV, no Rio de Janeiro. Na concluso dos trabalhos, em 1986, o CONFEN deliberou que o Banisteriopsis caapi fosse excludo da llista de produtos proscritos da DIMED, na medida em que, como afirma o Dr. Domingos Bernardo de S,
no pde o Grupo de Trabalho apurar um nico registro, objetivamente comprovado, que levasse demonstrao inequvoca de prejuzos sociais causados, especificamente, pelo uso at ento feito da ayahuasca. (S, Domingos Bernardo Gialuisi da Silva
Ayahuasca, a conscincia da expanso 1996, p. 15).
O Dr. Domingos Bernardo Gialuisi da Silva S narrou as atividades do GT no artigo indito Ayahuasca, a conscincia da expanso, que me foi gentilmente cedido pelo autor.
10
22
No entanto, esse parecer tinha ainda um carter provisrio, at que fossem completados os estudos dos mltiplos aspectos envolvidos no uso ritual de substncias derivadas de espcies vegetais, por comunidades religiosas ou indgenas, tais como os sociolgicos, antropolgicos, qumicos, mdicos e da sade, em geral.11 Assim, o mesmo jurista continuou presidindo o GT que em 1992 emitiu o parecer final sobre a questo da legalizao do uso ritual da ayahuasca, parecer que foi aprovado por unanimidade pelo CONFEN, determinando que
a ayahuasca, cujos principais nomes brasileiros so Santo Daime e Vegetal, e as espcies vegetais que a integram, o Banisteriopsis Caapi, vulgarmente chamado de cip, jagube ou mariri e a Psychotria Viridis, conhecida como folha, rainha ou chacrona, devem permanecer excludos das listas do DIMED ou do rgo que tenha a responsabilidade de cumprir o que determina o art. 36 da Lei 6.368, de 21/10/1976, atendida, assim, a anlise multidisciplinar constante no Relatrio Final de setembro de 1987 e do presente parecer.12
Ao fundamentar esta deciso, o Dr. S aponta que:
H mais de seis anos o uso da ayahuasca legtimo no Brasil, desde a interdio de 1985, suspensa em 1986, e no se tem notcia de um nico caso, cientificamente comprovado, de problemas mentais efetivamente causados pelo referido uso. Tampouco h referncia a abuso ou qualquer outro comportamento perturbador da ordem social.
E chega a relativizar e questionar o aplicao do termo alucingeno ayahuasca:
h, porm, conceitos intocados, mas no intocveis que, de fato, constituem-se, muito mais, em preconceitos, visto que, tantas vezes, so fruto de idias simplesmente herdadas e aceitas, sem jamais terem sido submetidas a qualquer anlise crtica. Um deles o que se refere a alucingeno e alucinao. Ao se definir, por exemplo, que alucinao percepo sem objeto, penetra-se em campo conceitual de extrema dificuldade.
Assim, depois de citar Mircea Eliade, que indica a falibilidade dos conceitos para expressar as experincias extticas, transcendentes ou metafsicas, ele conclui que
difcil o exame desapaixonado da questo, considerada a carga emocional que envolve o termo alucinao, cujo verdadeiro significado , praticamente, impossvel de traduzir conceptualmente.
11 12
Resoluo n. 6 do CONFEN, de 4 de fevereiro de 1986, publicada no D.O.U. de 5 de fevereiro de 1986. Parecer final do GT do CONFEN, presidido por Domingos Bernardo de S, de 2 de junho de 1992.
23
O efeito do ch Hoasca na fisiologia humana O ch Hoasca, preparado com o cip Banisteriopsis caapi e o arbusto Psychotria viridis, tem como princpios ativos os alcalides derivados beta-carbolnicos da harmina, tetrahidroarmina e harmalina, provenientes do Banisteriopsis, e a N,N-dimetiltriptamina (DMT), da Psychotria. A atuao dessas substncias no sistema nervoso central do ser humano descrita, de modo bem acessvel a leigos, por Dennis McKenna, que inicia esclarecendo que usa o termo alucingeno com o objetivo de obedecer nomenclatura cientfica padronizada, que o utiliza para referir-se a uma substncia que quando chega ao sistema nervoso humano produz alteraes perceptivas e/ou do estado de conscincia. Ele inicia apontando a atuao da DMT:
o componente principal quanto aos efeitos alucingenos do ch. inativo quando usado oralmente, pois rapidamente degradado por uma enzima presente em quase todos os tecidos, principalmente no fgado - a monoaminoxidase (MAO). Essa degradao que causa a sua inativao. A ao da DMT explicada pela semelhana estrutural que mantm com a serotonina, importante neurotransmissor do sistema nervoso central. (MCKENNA, 1991, p. 15)
Na seqncia, descrita a ao das beta-carbolinas provenientes do Banisteriopsis:
O outro grupo de alcalides o das Beta-Carbolinas, das quais encontramos, no ch, a Harmina, a Harmalina e a Tetrahidroharmina, como componentes principais. Sua ao no sistema nervoso se verifica somente em dosagens muitas vezes mais altas do que as encontradas normalmente na Hoasca. Sua ao principal, porm, a de anular as monoaminoxidases (MAO) do organismo. So encontradas principalmente no Mariri. (Id.)
Assim, a interao das beta-carbolinas e da DMT o que produz a atuao da Hoasca no organismo humano:
Pode-se ver que a unio desses dois vegetais num mesmo ch representa uma soluo bem inteligente, pois possibilita sua ao no sistema nervoso mesmo quando usada por via oral. As Beta-Carbolinas ocupam-se das enzimas, abrindo espao ao da DMT. Aos poucos, os tecidos vo fabricando mais monoaminoxidases (MAO) e, ao termo de algumas horas, j no se sentem os efeitos do ch, pela degradao que aos poucos feita da DMT. (Id.)
Na Conferncia Internacional de Estudos da Hoasca, realizada em 1995 no Rio de Janeiro, foram apresentados os resultados de uma pesquisa internacional articulada pelo
24
ento Centro de Estudos Mdicos da UDV, com a participao de nove universidades e instituies de pesquisa do Brasil, Estados Unidos e Finlndia. A pesquisa, Farmacologia Humana da Hoasca, foi realizada pela Escola Paulista de Medicina, Unicamp, UERJ, Universidade Federal do Amazonas e Instituto Nacional de Pesquisas da Amaznia, do Brasil, pelas Universidades da Califrnia, do Novo Mxico e de Miami, dos Estados Unidos e pela Universidade de Kuopio, da Finlndia. O projeto era constitudo de cinco partes: botnica e fitoqumica, clnica, psiquiatria, avaliao de usurio por longo perodo e estudos em animais. Em Manaus foi feita a fase de campo da pesquisa, com 15 membros do Ncleo Caupuri, que bebiam o ch h pelo menos 10 anos, e outros 15 no usurios da Hoasca, como grupo de controle. Com esses 30 voluntrios foram realizados extensos exames clnicos, laboratoriais e aplicao de questionrios, segundo os padres cientficos internacionais. Houve tambm monitoramento clnico dos 15 usurios durante o perodo de efeito da Hoasca. O resultado da pesquisa apontou que a Hoasca no causa qualquer padro de dependncia, abuso, overdose ou abstinncia (FABIANO, 1996, p. 4). Alm disso, no foi observado o surgimento de distrbios mentais posteriores ao uso do ch. (Id.) A coordenao da pesquisa foi de Charles Grob, da Diviso de Psiquiatria da Criana e do Adolescente da Universidade da Califrnia, que, em artigo acerca dos efeitos psicolgicos da Hoasca indica que
Psychiatric diagnostic assessments revealed that although an appreciable percentage of our long term hoasca using subjects had had alcohol, depressive or anxiety disorders prior to their initiation into the hoasca church, all disorders had remitted without recurrence after entry into the UDV. Such change was particularly noticeable in the area of excessive alcohol consumption [...]. All eleven of these subjects with prior involvement with alcohol achieved complete abstinence shortly after affiliating with the hoasca church. (GROB, 1996, p. 90).
Concluindo, Charles Grob afirma que:
The ceremonial use of hoasca, as studied within the framework of this research project, is clearly a phenomenon quite distinct from the conventional notion of drug abuse. Indeed, its apparent impact upon the subjects evaluated in the course of our inquiries appears to have been positive and therapeutic, both in self report as well as in objective testing. (Id., p. 93)
25
Uma nova perspectiva As plantas Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis so um recurso gentico disponvel s populaes da regio amaznica, na qual essas plantas so nativas, e populao brasileira de modo geral, na medida em que a expanso das religies usurias da ayahuasca disseminou o plantio dessas espcies vegetais pelo territrio brasileiro. Tradicionalmente, muitos povos da Amaznia, indgenas ou no, conhecem os procedimentos e tcnicas para a utilizao dessas plantas como um meio para a obteno de um estado alterado de conscincia. Assim, uma perspectiva jurdica consistente, sob o ponto de vista antropolgico, considerar o uso de Banisteriopsis caapi e Psychotria viridis como uma manifestao cultural associada a recurso gentico da biodiversidade da Amaznia. Tal perspectiva fundamenta-se tambm nos princpios defendidos pela Conveno sobre Diversidade Biolgica13, assinada por ocasio da Eco 92, a Conferncia das Naes Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro, em junho de 1992. O texto do tratado, j assinado por 175 pases, afirma em seu artigo 1 que:
Os objetivos desta Conveno, a serem cumpridos de acordo com as disposies pertinentes, so a conservao da diversidade biolgica, a utilizao sustentvel de seus componentes e a repartio justa e eqitativa dos benefcios derivados da utilizao dos recursos genticos [...].
Um episdio recente de pirataria gentica, quando um cidado norte-americano14 patenteou uma variedade de Banisteriopsis, suscitando um protesto macio de comunidades indgenas de diversos pases, aponta para a necessidade de se salvaguardar os direitos relativos aos conhecimentos tradicionais, associados a recursos genticos, de comunidades locais e populaes indgenas.
Cf. Decreto Legislativo n. 2, de 3 de fevereiro de 1994, que ratificou a Conveno no Brasil. Disponvel na INTERNET, via http://www.mma.gov.br/port/CGMI/aviso/frame.html, no site do Ministrio do Meio Ambiente. Arquivo consultado em 1999.
13
No dia 17 de janeiro de 1986, Loren Miller recebeu uma U.S. patent de planta n. 5751, com base na alegao de que descobrira uma nova variedade diferente de Banisteriopsis no Equador, o que foi amplamente questionado. Esta patente, vlida somente no territrio norte-americano, no resultou em nenhum efeito prtico relativo ao uso da ayahuasca, mas foi considerado um precedente perigoso. (Jos Augusto Pdua, comunicao pessoal).
14
26
As dimenses do CEBUDV O Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal realizou em 1998 um censo geral dos seus participantes, sob a coordenao de Suely Martins Bomfim Melo, do Ncleo Senhora Santana, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. J em 1991 e 1994, Glria Mura, do mesmo ncleo, havia coordenado recenseamentos da instituio (MURA, 1995, p. 7). Este mais um elemento que indica o empenho do CEBUDV em sua organizao institucional. O mapa ao lado apresenta a distribuio de unidades administrativas do CEBUDV no territrio brasileiro. A administrao da UDV dividiu o Brasil em regies, cujo responsvel chamado de Mestre Central. As regies so as seguintes, com o respectivo nmero de scios15:
Sede Geral 1 Regio 2 Regio 3 Regio 4 Regio 5 Regio 6 Regio 7 Regio 8 Regio 9 Regio 10 Regio 11 Regio 12 Regio 13 Regio TOTAL
Braslia, DF Rondnia (Porto Velho e Guajar Mirim) Amazonas, Par, Roraima e Amap So Paulo e Caldas, MG Bahia Rio de Janeiro e Esprito Santo Rondnia (demais municpios) Acre Gois e DF (sem a Sede Geral) Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Paraba, Pernambuco, Alagoas Cear Minas Gerais Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
177 scios 528 scios 1105 scios 722 scios 545 scios 428 scios 565 scios 535 scios 416 scios 353 scios 388 scios 365 scios 567 scios 386 scios 7080 scios
O nmero total de scios de cada regio inclui os filhos de scios, adolescentes com idade entre 12 e 18 anos, que freqentam a UDV.
15
27
Apresento a seguir o nmero dos participantes de cada regio administrativa, segundo cada uma das classes de filiados: membros do Quadro de Scios (QS), do Corpo Instrutivo (CI), do Corpo do Conselho (CDC) e do Quadro de Mestres (QM). Tambm indico o nmero de filhos dos scios na faixa de 12 a 18 anos (somente aqueles que freqentam a UDV), de adventcios (os que beberam o Vegetal pela primeira vez no CEBUDV) no ano (98), o nmero de pessoas que se associaram no ano e o nmero daqueles que foram afastados no ano. Finalmente, o nmero total de filiados: 5903; e o nmero total somado ao nmero de adolescentes que bebem o ch: 7.080. Eis o quadro geral do censo: Regie QS CI CDC QM 12 a Adven Assoc s 18 t. . 64 31 20 25 37 54 6 Sede G. 101 202 89 42 94 343 35 1a. 488 305 91 37 184 418 120 2a. 286 221 84 41 90 284 90 3a. 230 149 75 17 74 292 88 4a. 158 156 44 16 54 240 56 5a. 139 169 83 40 134 410 62 6a. 194 151 68 22 100 476 56 7a. 138 117 43 17 101 216 54 8a. 135 114 35 17 52 187 51 9a. 157 118 43 21 49 221 86 10a. 168 94 44 15 44 120 57 11a. 183 193 65 22 104 201 48 12a. 155 115 41 15 60 269 64 13a. Total 2596 2135 825 347 1177 3731 873 Afas Assoc t. . 12 140 21 434 158 921 53 632 34 471 58 374 61 431 67 435 31 315 26 301 48 339 40 321 36 463 29 326 674 5903 Assoc. + Adol. 177 528 1105 722 545 428 565 535 416 353 388 365 567 386 7080
Considerando-se a distribuio dos associados segundo as cinco regies brasileiras, tem-se o seguinte quadro: NORTE SUDESTE NORDESTE CENTRO-OESTE SUL TOTAL 1 2 6 e 7 Regies 3 5 e 12 Regies 4 10 e 11 Regies 8 e 13 Regies + Sede Geral 9 Regio 2.733 scios 1.717 scios 1.298 scios 979 scios
353 scios 7080 scios
28
Esta distribuio regional pode ser representada pelo seguinte grfico, que indica as propores de cada regio brasileira no total de associados do CEBUDV:
Distribuio dos associados nas regies brasileiras
5% 14% 39% 18% Norte 2733 Sudeste 1717 Nordeste 1298 Centro-Oeste 979 24% Sul 353
Pode-se tambm elaborar um outro grfico, no qual seja apresentada a distribuio geogrfica da UDV, segundo a dimenso das cidades onde se localizam os ncleos. Assim, poder-se- perceber melhor qual a significativa proporo do CEBUDV presente em meios claramente urbanos e sob um maior influxo da modernidade. Mostro, ento, os dados do Censo de 1998 da UDV e comparo-os com as informaes da Contagem da Populao de 1996, do IBGE16. De maneira bem esquemtica, classifico as cidades brasileiras a partir do nmero de seus habitantes. Para a confeco destas tabelas, convencionei trs faixas de populao para a caracterizao da dimenso das cidades. Considerei metrpoles as cidades brasileiras de mais de 900 mil habitantes. Assim, so 12 cidades: So Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte, Fortaleza, Braslia, Curitiba, Recife, Porto Alegre, Manaus, Belm e Campinas. Em todas elas h unidades do CEBUDV, em algumas vrias, totalizando 30 ncleos. Nesses, em 1998 estavam associados 3.349 discpulos, ou seja, 47 % do total da UDV no Brasil. Denominei cidades mdias aquelas com mais de 100 mil e at 900 mil habitantes. Nessas, estavam presentes 2.343 discpulos, que representavam 23 % do total. E, finalmente, contei como cidades pequenas aquelas com populao de at
Vide, no Anexo 3, as tabelas completas com o nmero de associados por municpio brasileiro, comparado com a populao do respectivo municpio.
16
29
100 mil habitantes. Nessas cidades, havia 1.388 scios da UDV, isto , 20 % do total nacional. Ainda que esta metodologia suscite dificuldades17, penso que ela pode ser til como simples recurso expressivo, que aponta diretamente para a constatao, por exemplo, de que 80% dos discpulos da UDV no Brasil so habitantes de cidades de mais de 100 mil habitantes. Eis os quadros com os dados: REGIO NORTE: DIMENSO N. de NCLEOS ASSOCIADOS Metrpoles 6 799 Cidades mdias 8 955 Cidades pequenas 16 985 REGIO SUDESTE: DIMENSO
Metrpoles Cidades mdias Cidadespequenas
PORCENT. 29% 35% 36%
N. de NCLEOS 8 6 4
ASSOCIADO S 932 471 314
PORCENT. 54% 28% 18%
REGIO NORDESTE: DIMENSO N. de NCLEOS Metrpoles 8 Cidades mdias 5 Cidadespequenas 0 REGIO CENTRO-OESTE: DIMENS O
Metrpoles Cidades Mdias cidadespequenas
ASSOCIADOS 829 469 0
PORCENT. 64% 36% 0%
N. de NCLEOS 6 2 1
ASSOCIADOS PORCENT. 593 352 34 60% 36% 4%
REGIO SUL: DIMENSO
Metrpoles Cidades mdias Cidades pequenas
N. de NCLEOS 2 2 1
ASSOCIADO S 202 96 55
PORCENT. 57% 27% 16%
DISTRIBUIO GEOGRFICA DA UDV NO BRASIL:
Na medida em que, por exemplo, no se pode dizer que pelo simples fato de ter uma populao menor um municpio menos urbanizado que outro.
17
30
DIMENSO Metrpoles Cidades mdias Cidades pequenas TOTAL
UNIDADES UDV 30 23 22
75
ASSOCIADO PORCENT. S 3.349 47% 2.343 1.388
7.080
33% 20%
100%
PROPORO DO NMERO DE ASSOCIADOS SEGUNDO A DIMENSO DA CIDADE:
20% 47% 33% Metrpoles Cidades mdias Cidades pequenas
31
1.2. O NCLEO ALTO DAS CORDILHEIRAS EM CAMPINAS
O Ncleo Alto das Cordilheiras foi o que escolhi para o trabalho de campo desta dissertao. Para situar o leitor no ambiente que encontrei, cito a seguir as anotaes que fiz em meu dirio de campo, no dia em que estive pela primeira vez no ncleo:
Ao meio-dia de hoje [16 de agosto de 1998] cheguei ao Ncleo Alto das Cordilheiras, acompanhado pela Conselheira Ins 18, esposa do Mestre Daniel, e pela Bete, que j foi do Ncleo So Joo Batista de So Paulo e do Ncleo Serenita, de Salvador. No caminho, esclareci a elas que vim a Campinas apenas para estar na Sesso de Escala de hoje. Falei que escolhi realizar meu trabalho de campo no ncleo Alto das Cordilheiras e lhes disse as motivaes. Quando chegamos, a Ins me mostrou o Ncleo, as obras da grande estrutura de pedra que ser Casa de Preparo em cima e um salo embaixo, a antiga Casa de Preparo, o chacronal e os laguinhos, um brejo que foi drenado, no qual se fez um belo recanto, cheio de flores, com dois lagos em planos sucessivos, por onde a gua passa, produzindo sons suaves e doces. E h a banquinhos para se sentar, onde, conforme disseram, se pode ficar a meditar, ouvindo os murmrios das guas. O Conselheiro Nelson estava fazendo um pequeno terrao de pedra, onde ser colocado um canteiro de flores. Ins me mostrou tambm a mina dgua, onde se pensa fazer uma piscina para lazer das crianas. Ao lado, h uma rea onde Mestre Daniel pensa fazer um carramancho de mariris - que Ins j imaginou todo coberto de flores rosadas, um belo cenrio para encontros da irmandade. Depois sentamos nos banquinhos junto ao lago e ficamos conversando. Em seguida, subimos para junto do Salo e sentamos num jardim sua frente, onde fiquei conversando com o Loureno, senhor com aproximadamente 55 anos, que me disse que j trabalhou muito no terreno do Ncleo Lupunamanta e hoje trabalha apenas dando apoio moral. Logo veio o Felipe, parente do Mestre Daniel (primo?), se sentou no banco e comeou a tocar violo, composies suas e de autores clssicos. Seu professor foi nada menos que Paulinho Nogueira, seu parente tambm. Depois entrei no Salo e encontrei o Mestre Francisco, PhD. em Engenharia, professor da Unicamp. Eu j o conhecia de 1992.
Pseudnimo. Adotei o critrio de mudar os nomes dos participantes do Ncleo Alto das Cordilheiras, escolhendo aleatoriamente nomes que no figuram na lista dos membros do ncleo, tendo em vista salvaguardar mais a sua privacidade, j que nas entrevistas muitas vezes foram abordados asssuntos de foro mais interno. Os pseudnimos aparecero grafados em itlico.
18
32
Chegou a hora do almoo, e foi servida, sobre a mesa do Salo do Vegetal, uma refeio deliciosa. Vrias saladas, arroz integral, peixe e tambm carne. Sentei-me entre o Mestre Francisco e o Carlos, equatoriano, PhD. em Arquitetura e tambm msico - mais tarde o vi tocando um instrumento andino tpico, um quatro. No almoo, falou-me de um simpsio recente no Rio, acerca do uso revolucionrio do bambu em construes. Aps comer, resolvi descansar um tempo na Casa de Preparo. L estavam uns trs irmos fazendo blocos de cimento.
Considero que estas notas so bem evocadoras de vrios aspectos de meu trabalho de campo. Algo que logo salta aos olhos a acolhida que recebi dos participantes do ncleo. Em pouco tempo me senti vontade com o grupo, com liberdade para me fazer presente nas diversas atividades da irmandade e para perguntar nas entrevistas acerca de tudo o que me parecesse relevante. Outro aspecto que esse trecho do dirio j indica o
estilo cultivado dos participantes do ncleo, indivduos das camadas mdias da cidade de
Campinas (ou da Cidade de So Paulo), a grande maioria com formao universitria e muitos ps-graduados. Essa caracterstica ser exposta de maneira mais detalhada e quantitativa no tpico seguinte, Os discpulos do Alto das Cordilheiras. Relacionado a isto, est o que se poderia qualificar de um certo refinamento na sensibilidade dos membros, perceptvel naquele dia, no cuidado com os jardins do stio, nos gostos musicais, na refeio bem preparada, nos assuntos das conversas, e na prpria delicadeza com que me receberam. Estes aspectos que aponto permitem que se tenha uma idia de uma caracterstica do trabalho de campo: foi uma experincia agradvel. relevante esse elemento subjetivo: a interao prazeirosa com os participantes do Alto das Cordilheiras gerou em mim uma
empatia com o grupo estudado, da qual estou consciente e que no desejo ocultar ao leitor.
E no somente houve o prazer da convivncia em ocasies mais ou menos superficiais, como o evocado no trecho acima, mas tambm momentos de entranhada comunho de sentimentos, por exemplo, quando nas entrevistas eram compartilhadas comigo vivncias de forte densidade e significado para a vida dos meus interlocutores. Se esta proximidade afetiva abriu-me muitas portas e permitiu-me acesso a informaes que outros no teriam, por outro lado, certamente influenciou o meu enfoque. O tempo posterior ao trabalho de campo, a reflexo antropolgica sobre o amplo material coletado propiciaram-me um distanciamento. Mas reconheo-me livre da iluso de uma neutralidade do etngrafo, e sei que esta dissertao um olhar interpretativo, entre tantos possveis, sobre esse objeto.
33
Atividades realizadas durante o trabalho de campo
Permaneci quase trs meses em Campinas, morando numa residncia dos jesutas, enquanto realizava o trabalho de campo. Estive presente em vrias sesses, em um preparo de Vegetal, dias de trabalho no stio, promoes para a obteno de recursos para a construo do ncleo, encontros informais de membros do ncleo, ensaios do grupo musical... Busquei aproveitar todos os momentos de encontro dos participantes para me fazer presente. E tive uma agenda densa de entrevistas durante toda a semana. A cada dia tinha ao menos uma entrevista, s vezes duas, ou at trs. As entrevistas duravam em mdia duas ou trs horas. Algumas vezes prolongaram-se por at seis horas. Realizei um total de 50 entrevistas. Colhi dados quantitativos de 59 membros. As entrevistas, na maioria das vezes, foram realizadas nas residncias dos participantes do ncleo. Isto possibilitou-me um conhecimento maior da vida quotidiana dessas pessoas. Por vezes, convidavam-me para jantar e depois ficvamos gravando a entrevista at bem tarde da noite. Duas vezes, entrevistei simultaneamente um casal, mas todas as demais foram entrevistas individuais, para que houvesse maior liberdade dos entrevistandos. Tambm realizei algumas entrevistas no prprio ncleo, durante o preparo de Vegetal em que estive presente. Assim, tive oportunidade de falar com pessoas que estavam de burracheira, sob o efeito do ch Hoasca. Outra atividade bastante relevante para a pesquisa foi a observao do ritual. Ouvir as falas dos participantes durante as sesses teve grande importncia para a compreenso da experincia vivenciada por eles. Nas entrevistas, adotei a postura de tratar o entrevistando no como informante, mas como interlocutor. Muitas vezes eles tambm me faziam perguntas, principalmente a respeito de minha viso, enquanto padre da Igreja Catlica, a respeito da Unio do Vegetal. As entrevistas foram um momento em que no me furtei a falar de minha experincia. E, por vezes, as declaraes dos entrevistandos adquiriam um tom quase confessional, seja compartilhando problemas pessoais, seja falando com extrema franqueza sua viso crtica acerca do CEBUDV.
34
A organizao do espao no Ncleo
O Ncleo Alto das Cordilheiras situa-se em Joaquim Egdio, rea rural do municpio de Campinas, a aproximadamente 45 minutos de carro do centro da cidade. Os ncleos costumam estar localizados em reas distantes das cidades, onde no haja muito barulho ao redor e se possa ter um terreno amplo. O Ncleo tem uma edificao central, que chamada de Templo, cujo espao principal o Salo do Vegetal. Na mesma edificao principal h tambm uma cozinha, uma despensa, o banheiro feminino e o masculino. Ao lado do Templo h um espao para estacionamento de automveis. Como o terreno tem um declive, num plat abaixo do Templo est a Casa de Preparo, uma espcie de barraco de madeira com uma fornalha, onde o ch hoasca preparado ritualmente. Quase ao lado, encontra-se o Chacronal, uma rea cercada e coberta de tela na qual esto plantados os ps de chacrona. Mais abaixo, prximo ao pequeno lago e ao crrego que passa no fundo do terreno, est o plantio principal de mariri, ainda que haja ps do cip em vrios pontos do stio. Na parte mais alta do terreno, junto entrada, situa-se a casa do caseiro, tendo ao lado a casa das crianas ou berrio. A sesso realizada no Salo do Vegetal, uma sala, com capacidade para aproximadamente 80 pessoas. Em lugar de destaque do salo h uma mesa retangular, com um lugar cabeceira, outro em frente a ela e oito lugares nas laterais. Na cabeceira, de frente para a assemblia, fica o Mestre Dirigente da sesso. sua direita, fica o Mestre Assistente, responsvel pela ordem e a disciplina da sesso. Ao seu lado, fica o discpulo escalado para fazer a leitura dos estatutos do Centro. esquerda do Mestre Dirigente, fica um discpulo que na sesso far uma explanao aps a leitura dos estatutos. Os demais lugares mesa so ocupados por scios dos vrios graus hierrquicos. O lugar em frente cabeceira o do Mestre Auxiliar, algum - no necessariamente mestre - a quem se pede licena para sair do Salo durante a sesso. Na maioria dos ncleos que conheo o pedido de licena feito ao Mestre Dirigente, mas a opo do Ncleo Alto das Cordilheiras de designar outra pessoa para esta funo visa evitar as interrupes freqentes para simplesmente se pedir licena para ir ao banheiro. Desse modo, o pedido de licena feito em voz baixa para quem se encontra sentado nesse lugar.
35
Em frente mesa e nos seus dois lados, distribuem-se os assentos dos demais participantes, bancos de madeira anatmicos e cadeiras de metal e fio plstico verde, que possibilitam uma postura corporal mais relaxada durante as quatro horas e quinze minutos de ritual. Atrs da mesa, fica apenas uma fila de cadeiras, reservadas para os mestres. Os conselheiros e conselheiras ficam nas primeiras filas laterais. Em frente mesa est a maior parte das cadeiras, dispostas em vrias fileiras. Quanto a estas, no h critrio especial para a sua ocupao, exceto que as cadeiras da primeira fila destinam-se prioritariamente para visitantes ou pessoas que bebem o Vegetal pela primeira vez. muito enfatizada a necessidade de as pessoas andarem no salo, durante a sesso, no sentido anti-horrio. Esse o sentido da fora, a maneira como a fora do vegetal circula no salo e nas pessoas. o mesmo sentido em que o cip mariri sobe nas rvores da floresta. Assim, preciso seguir esse sentido ao caminhar durante a sesso, para se estar em harmonia com essa fora, possibilitando assim que ela flua do melhor modo entre todos. Para maior clareza quanto distribuio do espao, veja-se a seguir o desenho da planta baixa do salo. O espao ritual bem sbrio, com poucos smbolos. As paredes so pintadas na cor creme. Sobre a mesa, acima do lugar de quem dirige a sesso, h um arco de madeira pintado de verde, com as seguintes inscries em amarelo: ESTRELA DIVINA UNIVERSAL UDV. E no arco esto desenhadas, tambm em amarelo, algumas estrelas de cinco pontas e duas estrelas com cauda de cometa. Na parede atrs da mesa, h um quadro com a foto do Mestre Gabriel, de p sob um arco semelhante, tendo junto a si um copo de Vegetal. Na parede em frente ao lugar do Mestre Dirigente h um relgio. Na mesa, direita do lugar do Mestre Dirigente, h um recipiente de cermica no qual se pe o Vegetal. Ficam na mesa tambm jarras de gua e copos para os participantes. O copo de gua do Mestre Dirigente mantido cheio durante toda a sesso.
36
PLANTA DO SALO DO VEGETAL DO NCLEO ALTO DAS CORDILHEIRAS
LEGENDA: Foto do Mestre Gabriel Arco e Cadeira do Mestre Dirigente Filtro com o Vegetal Mesa Aparelho de Som Fila de Cadeiras dos Mestres Cadeira do Mestre Representante Fila de Cadeiras dos(as) Conselheiros(as) Fila de Cadeiras dos Discpulos Portas de Entrada Cadeira do Mestre Auxiliar Sentido da Circulao dos Participantes Relgio
37
A estrutura de uma sesso de escala
Para as sesses realizadas no Salo do Vegetal, os membros da UDV vestem uniforme. Os discpulos do sexo masculino usam cala branca com uma camisa verde com as letras UDV bordadas em branco no bolso. As mulheres vestem cala amarela e uma camisa igual dos homens. Os(as) discpulos(as) do Corpo Instrutivo tm o mesmo uniforme com a diferena de que o bolso de sua camisa verde tem as letras UDV em amarelo. Os conselheiros e conselheiros tm em sua camisa, junto s letras UDV as letras CDC (Corpo do Conselho). Os mestres vestem uma camisa que alm das letras UDV e CDC tem bordada uma estrela amarela. O Mestre Assistente porta sobre seu uniforme uma faixa branca transversal com as seguintes letras em verde: UDV OBDC. O Mestre Representante do Ncleo veste uma camisa azul, com as letras UDV e CDC e a estrela. Assim, olhando-se para o conjunto dos participantes, as cores do uniforme da Unio do Vegetal so as mesmas da bandeira brasileira: verde, amarelo, azul e branco. As sesses de escala, aquelas destinadas a todos os scios, acontecem quinzenalmente, no primeiro e no terceiro sbado do ms. Ainda que a etnografia de uma sesso fosse grandemente interessante, com a descrio dos assuntos tratados pelo Mestre Dirigente, as chamadas realizadas e a participao dos scios, devido limitao relativa ao carter reservado dos ensinos da UDV, limitar-me-ei a apresentar aqui a estrutura, o esquema de uma sesso de escala. A sesso se inicia pontualmente s 20 horas, com o pedido de ateno a todos, para a distribuio do Vegetal. A assistncia se coloca de p, em silncio. A distribuio se d hierarquicamente: o Mestre Dirigente da sesso serve a si e aos outros mestres, depois aos(s) conselheiros(as), em seguida ao Corpo Instrutivo, aos membros do Quadro de Scios e por fim aos visitantes no uniformizados. As pessoas aproximam-se da mesa formando uma fila que vem pela direita e sai pela esquerda (do ponto de vista de quem est em frente mesa), ou seja, no sentido da fora. Aps a distribuio do ch, os mestres, conselheiros e discpulos do Corpo Instrutivo o bebem. Depois, o ch bebido pelo segundo grupo, os scios que no so do Corpo Instrutivo e aqueles que no so scios. Na medida em que o Ncleo Alto das
38
Cordilheiras tem em torno de setenta participantes, esta primeira etapa do ritual, a distribuio do ch, se estende por aproximadamente vinte minutos. Tendo todos bebido o Vegetal, os participantes se sentam. O orador do ncleo anuncia os visitantes de outro ncleo ou alguma pessoa que esteja bebendo o Vegetal pela primeira vez, e deseja a todos uma sesso plena de Luz, Paz e Amor. O discpulo sentado ao lado do Mestre Assistente l ento trechos dos documentos escritos da UDV, um conjunto de normas e regulamentos, a maioria dos quais escritos ainda no tempo do Mestre Gabriel. Tal leitura se prolonga por aproximadamente vinte minutos. o tempo para que o Vegetal comece a fazer efeito. lido o Regimento Interno do Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal, os Boletins da Conscincia, o artigo Convico do Mestre e os Mistrios
do Vegetal, texto em forma de acrstico falando do mariri e da chacrona. Aps a leitura dos
documentos, o(a) discpulo(a) do Corpo Instrutivo ou Conselheiro(a) ou Mestre sentado(a) esquerda do Mestre Dirigente faz a explanao, um comentrio sobre algum dos pontos abordados nos documentos lidos. Nesse momento, a maioria dos participantes j est comeando a sentir a burracheira, palavra que para a UDV significa fora estranha e usada para designar o efeito sentido pelas pessoas que bebem a Hoasca. O Mestre Dirigente faz ento as chamadas de abertura. Em meio a um silncio absoluto dos presentes, ele entoa hinos que tm importncia fundamental no ritual. As chamadas, como o nome indica, chamam a burracheira, a fora estranha do Vegetal, para que ela atue nos presentes. Assim, atravs das chamadas que se orienta a sesso, ou seja, que se canaliza o efeito do ch para os objetivos espirituais visados pela Unio do Vegetal. Os dois pedidos mais presentes nas chamadas so luz e fora. A luz, que est relacionada chacrona, o princpio feminino presente no ch, a dimenso do conhecimento espiritual. A fora, atribuda ao mariri, o princpio masculino. Aps as trs primeiras chamadas, o Mestre Dirigente levanta-se e, caminhando no
sentido da fora, pergunta individualmente para as pessoas sentadas mesa e para os
Mestres e Conselheiros(as) ao redor dela se eles tm a burracheira. Tendo perguntado aos que esto assentados prximos mesa, o Dirigente em seguida se dirige assemblia, fazendo a mesma pergunta de uma s vez para todos aqueles aos quais ele ainda no
39
perguntou. E a assemblia responde afirmativamente, em coro. Esse rito denominado
ligao da sesso.
Feita a ligao da sesso, o Dirigente volta a se sentar e faz a Chamada do Mestre
Caiano. Caiano o primeiro hoasqueiro, a primeira pessoa que bebeu o Vegetal. Pede-se a
presena de Caiano para que a prpria burracheira possa atuar, trazendo luz para os
caianinhos, ou seja, os seus discpulos, os membros da UDV. Esta chamada central para a
abertura da sesso e nunca pode ser omitida. Logo depois, o Mestre Representante, ou algum mestre designado por ele, quem faz a quinta chamada de abertura. Na sequncia, comum escutar-se msica instrumental. Ouve-se uma msica cuidadosamente escolhida para chamar burracheira. Passam-se uns cinco minutos ao som da msica, tempo no qual as pessoas costumam sentir a burracheira crescer. Depois, o Mestre Dirigente costuma fazer alguma outra chamada e em seguida dirige-se aos participantes, introduzindo algum tema que ser tratado na sesso. E ele diz que o oratrio est aberto, ou seja, aqueles que desejarem podem falar, perguntar, ou fazer chamadas, sendo necessrio que antes se pea licena ao Mestre Dirigente. A sesso segue com ampla participao dos presentes. So feitas ao Mestre Dirigente perguntas bem diversificadas, desde questes a respeito da doutrina da UDV, passando por outras acerca do significado de determinada palavra numa chamada, at perguntas a respeito do modo de agir dos discpulos no cotidiano, alm de questes mais filosficas do tipo o que a verdade?. s perguntas vo se intercalando chamadas e msicas. As canes brasileiras que se ouvem na sesso tocam temas relativos ao agir humano, como o valor da amizade, da retido, do amor, da harmonia, temas relativos natureza, ou temas mais propriamente religiosos: Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora. Quando a sesso j se encaminha para a sua concluso, se tornam mais freqentes as falas de participantes da sesso, que se levantam e vo para a frente dirigir palavras irmandade reunida. So vrias vezes testemunhos sobre a importncia da UDV na vida das pessoas, expresses de gratido, recordaes de aniversrios de nascimento ou de inico na Unio. A seguir vm alguns avisos prticos. Nesta parte da sesso j no se fazem mais chamadas. So lidos os boletins de ocorrncia dos ncleos de todo o Brasil, informando quem foi convocado para ser conselheiro(a) ou mestre, assim como anunciando as pessoas
40
que foram afastadas do Quadro de Mestres, do Corpo do Conselho, do Corpo Instrutivo ou da comunho do Vegetal. s 23 horas e 30 minutos, feita pelo Mestre Dirigente a Despedida do Mestre
Caiano, uma chamada para despedir a burracheira. Ento, o Dirigente se levanta e faz o
fechamento da ligao, andando no sentido inverso ao sentido da fora e perguntando s mesmas pessoas a quem se dirigiu no incio da sesso se foi boa a burracheira. Aps receber deles a resposta afirmativa, o Mestre Dirigente faz as mesmas perguntas para todos os outros membros da assemblia de uma s vez. O(a) discpulo(a) que fez a explanao d o aviso do dzimo, convidando os participantes a doarem uma quantia no estipulada
para a compra de material de limpeza para a higiene do salo. Nesse momento feito
um intervalo de aproximadamente 25 minutos, durante o qual as pessoas podem se levantar e conversar. um tempo para que a burracheira, o efeito do ch, v passando e as pessoas possam ir gradualmente aterrissando, retornando ao estado de conscincia normal. Quando faltam por volta de cinco minutos para a meia-noite, todos voltam ao salo e fazem silncio. feito o Ponto da Meia-Noite, chamada que salienta a importncia do tempo, voltando a ateno dos participantes para os ponteiros do relgio e marcando o incio de um novo dia com a renovao trazida por uma sesso de Vegetal. So dados mais alguns avisos e em seguida, faz-se a chamada de fechamento. 0 hora e 15 minutos necessariamente conclui-se a sesso. E o Mestre Dirigente anuncia que "por hoje a sesso
est fechada".
Aps a concluso, as pessoas se levantam e tm um tempo intenso de interrelacionamento, partilhando as suas respectivas experincias durante a sesso. Na mesa do salo servido um lanche com refrigerantes, trazido pelo grupo que no dia estiver escalado para essa funo. A conversa costuma se estender por mais de duas horas, at que as pessoas vo retornando para as suas casas.
Atividades da irmandade
Alm das sesses de escala, realizadas nas noites dos primeiros e terceiros sbados do ms, h uma srie de atividades propostas para a irmandade. Primeiramente, h o
41
trabalho nos sbados de escala. Nos dias em que se tem sesso de escala noite, desde a
manh os discpulos costumam ir para o terreno, ou ir para o stio, para realizar os trabalhos necessrios para a sua manuteno: cuidar do plantio de mariri e chacrona, dos jardins e das dependncias do ncleo. Como as pessoas vo de manh, preciso que algumas se dediquem a preparar as refeies: o caf, o almoo, a sopa antes da sesso e o lanche da madrugada. Em outros ncleos que visitei, h uma clarssima diviso do trabalho segundo o gnero: as atividades na cozinha so tarefa das mulheres. No Ncleo Alto das Cordilheiras, ainda que para o almoo eu tenha visto mais o trabalho feminino, h uma tendncia de mais partilha desse trabalho com os homens. Assim, o lanche posterior sesso trazido e preparado por grupos previamente escalados, que incluem homens e mulheres. Mas o trabalho nos dias de escala no se limita ao exposto acima, porque o ncleo est em construo. No dia da comemorao dos sete anos do Alto das Cordilheiras estive presente e foi distribudo a todos um carto com os dizeres: ...estamos construindo um templo... Assim, todos os discpulos so motivados pela direo e por aqueles que se colocam mais frente das atividades a estarem em mobilizao para a construo. Isso significa disponibilidade para uma srie de atividades: desde mutires para fazer diretamente alguma etapa da obra at a idealizao e execuo de eventos para a arrecadao de fundos para a construo. Em algumas sesses ouvi o Mestre Representante e o Presidente falarem da pouca participao dos discpulos nos trabalhos concretos. O Ncleo Alto das Cordilheiras seria um dos ncleos da UDV que mais precisaria mellhorar nesse aspecto. No de se surpreender que hajam algumas dificuldades nesse sentido, na medida em que o perfil dos participantes, como ser exposto a seguir, de indivduos que em sua maioria se dedicam a um trabalho intelectual. Mas tem-se buscado solues criativas para essa questo. Assim, por exemplo, no perodo de trabalho de campo, presenciei as atividades de um dia de sbado em que todos foram convocados para um trabalho artstico com argila. Foram transmitidos ao grupo noes bsicas de confeco de peas de cermica por um irmo que trabalha profissionalmente na rea e, em seguida, um dos mestres, arquiteto e artista plstico, motivou as pessoas a deixarem seu impulso criativo agir. Assim, todos se dedicaram a esta agradvel atividade, fazendo esculturas e vasos que depois foram vendidos em um bazar.
42
No momento, a direo do ncleo tem como meta a concluso das obras da nova Casa de Preparo, que ser integrada ao atual Salo do Vegetal. A presena de arquitetos e de um administrador de construes entre os scios do ncleo facilita a consecuo do empreendimento. H um Departamento de Eventos, e constantemente tem-se realizado almoos, bazares, festas, abertos para a participao de no-scios, tendo em vista a arrecadao de recursos. Dessa maneira, o ncleo toma quase as feies de uma central promotora de eventos: so dezenas de pessoas, de nvel acadmico superior, organizadas e empenhando-se na criao e realizao de atividades geradoras de renda. Muitas delas so de cunho cultural ou artstico. Nos ltimos meses, tem havido, por exemplo: uma palestra de um conhecido escritor de Campinas, filsofo e telogo, um workshop de Programao Neuro-Lingustica, um seminrio de design e oficinas de arte, alm de um jantar japons e uma festa junina. Para a discusso, planejamento e avaliao desses eventos, assim como para decidir tudo o que toca organizao material do ncleo, os discpulos realizam uma atividade presente em todas as unidades da UDV: a Reunio de Diretoria. Todos os scios so convidados para participar dessa reunio, coordenada pelo Presidente do Ncleo, que no caso do Alto das Cordilheiras costuma ser realizada a cada dois meses. A Diretoria tem um boletim informativo mensal, o Comunidade, que comeou a ser publicado quando iniciei o trabalho de campo. Jornal impresso, de quatro pginas, alm de trazer as comunicaes da Diretoria, est aberto colaborao dos scios, que participam com artigos, crnicas, poesias. O CEBUDV, como a seu prpria denominao indica, tem uma dimenso de beneficncia. Assim, nos ncleos existe o Departamento de Beneficncia. Eles auxiliam famlias de Souzas e Joaquim Egdio em doao de alimentos para as pessoas da regio. H outras atividades, como uma campanha no ltimo inverno, para a arrecadao de peas de roupa e cobertores, que foram doados a pessoas carentes do Distrito de Joaquim Egdio. No entanto, alguns dos scios entrevistados reconhecem que o ncleo ainda precisa expandir muito as suas iniciativas de solidariedade com os mais necessitados. Mas a agenda dos scios no se limita ao descrito at aqui. H tambm as atividades propriamente religiosas, que no se restringem s sesses de escala. A mais significativa delas o Preparo de Vegetal. Periodicamente, aproximadamente a cada trs meses, necessrio preparar ritualmente o ch Hoasca. uma atividade exigente, que demanda por
43
volta de trs dias de trabalho contnuo e um preciso conhecimento prtico, para colheita do mariri (o que na maioria das vezes se d em outro local), colheita da chacrona, bateo (macerao) do cip, lavagem das folhas de chacrona, disposio dos dois vegetais em camadas dentro de grandes tachos acrescidos de gua, acompanhamento da fervura do lquido durante horas e horas, coleta e armazenagem do ch preparado, que ser bebido nas sesses dos meses seguintes. O Preparo o grande acontecimento da UDV, momento em que se reforam os laos de solidariedade entre os participantes atravs da partilha do trabalho comum e da convivncia informal e continuada. tambm um momento que muitos discpulos apontam como de aprofundamento da experincia religiosa de estado alterado de conscincia propiciada pela Hoasca, que bebida vrias vezes ao longo do Preparo. E alguns apontam para uma dimenso alqumica do ritual: prepara-se um ch e simultaneamente o discpulo prepara-se interiormente. Esse aspecto pode ser observado no editorial do Informativo ComUnidade de setembro de 1999:
Nos dias 28 e 29 do ms de agosto, realizamos um preparo de vegetal aqui no Ncleo Alto das Cordilheiras, aproveitando a oportunidade de preparar o mariri caupuri, de Belm. A chacrona colhida do nosso viveiro. Que a unio do mariri e da chacrona, da Fora e da Luz, do norte e do sul - presentes no preparo - se faam presentes tambm em todos ns.
Um rito religioso de grande relevncia para os discpulos a Sesso Instrutiva, que se realiza a cada dois meses, em um domingo, ao meio-dia, com aqueles discpulos que foram convocados pelo Mestre Representante para formar o Corpo Instrutivo do Ncleo. o momento da UDV mais propriamente inicitico e esotrico, no sentido de constituir uma esfera de segredo reservada aos seus participantes. Todo esse conjunto de atividades exige dos participantes do Alto das Cordilheiras uma considervel parcela de seu tempo. Essa pessoas, na medida em que conheceram a UDV e se deixaram cativar por sua proposta, foram solicitadas pela prpria dinmica da interao dos membros do ncleo a realizar mudanas em suas vidas que lhes permitissem responder a essa demanda de participao. Mas, quem so esses sujeitos urbanos das camadas mdias da cidade de Campinas, que vem experimentando essa converso do individualismo da sociedade contempornea para uma tica religiosa especfica que
44
privilegia os valores comunitrios? Buscarei delinear a seguir os traos bsicos do perfil desses participantes.
45
1.3.
OS DISCPULOS DO ALTO DAS CORDILHEIRAS
No perodo de agosto at incios de novembro de 1998, realizei o trabalho de
campo no Ncleo Alto das Cordilheiras, em Campinas. Alm das entrevistas qualitativas, elaborei um breve questionrio de duas pginas, o qual me possibilitou a obteno do perfil que exporei a seguir. O questionrio foi respondido por 59 pessoas, dentre os 69 scios que o ncleo contava ento. O motivo que me impossibilitou de recolher os dados de todos foi principalmente o distanciamento de alguns, que no entanto ainda esto associados. No tenho pretenso de construir um quadro estatstico rigoroso. Minha inteno apenas utilizar estes dados limitados para delinear um perfil daqueles a respeito de quem esta dissertao trata. Estes breves traos que se seguem possibilitaro que o leitor venha a ter alguma idia da insero scio-econmico-cultural dos participantes do ncleo. No Ncleo Alto das Cordilheiras predominam pessoas na faixa dos 40 anos de idade, os quais constituem 40% dos participantes. Na faixa dos 50 e dos 30 anos h tambm em torno de 20% dos scios. O nmero de jovens mais reduzido: apenas 15% na faixa dos 20 anos. Assim, o ncleo se caracteriza por uma maioria significativa de membros adultos maduros, dos quais, como veremos adiante, a maior parte j bebe o ch h muitos anos. Tal predomnio numrico dos mais maduros, tanto em idade quanto em tempo de participao, tem as suas repercusses na dinmica interna do grupo. Dentre os pesquisados, h 30 mulheres e 29 homens, ou seja , praticamente um equilbrio numrico.
Faixas Etrias
5% 18% 20% 2% 15% 19 a 29 anos (8) 30 a 39 anos (11) 40 a 49 anos (22) 50 a 59 anos (10) 60 a 69 anos (3) 70 a 79 anos (1)
Sexo
49% 51%
40%
Mulheres 30 Homens 29
46
As procedncias dos participantes, tendo em vista os seus locais de nascimento, so diversas: so apenas 18% dos membros que nasceram na cidade de Campinas, 23% de So Paulo e 25% do interior do Estado, 29% vm de outros Estados e h ainda 5% de estrangeiros. Entre os provenientes de Campinas, h uma poro significativa pertencente a famlias tradicionais da cidade. Nas casas de alguns pude ver algumas fotos de bisavs dos ureos tempos do caf. Mas, como vimos, o contingente maior numericamente, dos nascidos em outros estados, os quais, somados aos que vieram do exterior (Europa, Amrica Latina, Oriente Mdio), trazem um colorido de maior diversidade cultural ao ncleo.
L o cal d e N ascim ento
C am pinas (8)
1 8%
5% 2 9%
S o P aulo (13) Interior de S P (14) O utros estados (16) E xterior (3)
23 %
25%
A grande maioria dos participantes, 82%, mora atualmente na prpria cidade de Campinas. Mas h um grupo de moradores de So Paulo, capital. Tal grupo, que perfaz 16% da irmandade, composto em sua maior parte por pessoas que j participam da UDV h mais de uma dcada. Esses normalmente no tm condies de estar presentes nos mutires, que acontecem quinzenalmente, nas manhs e tardes dos sbados em que h sesso de escala. Assim, a participao deles fica mais limitada prpria sesso, o que, ainda que desfalque o trabalho do ncleo, aceito pela direo. Mas h uma tendncia a querer que os novos participantes sejam de fato moradores de Campinas, para que possa haver maior participao nas atividades. importante ressaltar que h trs ncleos da UDV nos arredores da Cidade de So Paulo. Isso indica que, se essas pessoas optam por enfrentar a estrada e ir at Campinas, porque devem reconhecer um diferencial que compensa o maior tempo dispendido e o desgaste de uma viagem mais longa.
47
Locais atuais de moradia
2%
16%
Campinas (46) So Paulo (9) Interior de SP (1) 82%
Quanto ao estado civil dos participantes, predominam os casados, perfazendo 53%, dos quais, por sua vez, 90% tm o cnjuge participando do prprio ncleo. Ou seja, so apenas 3 as pessoas casadas cujo marido ou esposa no participa da UDV. Este um dado importante, e bastante especfico da UDV. Demonstra a nfase familiar do estilo de vida dos discpulos da Unio do Vegetal. Por exigir uma participao que demanda uma parcela de tempo bem maior que muitas religies, a UDV se torna difcil para pessoas cujo cnjuge no participa. Ter um sbado a cada quinzena ocupado, muitas vezes desde a manh at tarde da madrugada, sem contar os demais compromissos que surgem por ocasio de eventos para angariar recursos, certamente no algo fcil para os casados que no so acompanhados por seu cnjuge. Alm desse elemento prtico, a insistncia com que na doutrina da UDV se elogia a constituio da famlia cria um ambiente favorvel participao dos casais, havendo inclusive sesses de casal umas trs vezes por ano, nos meses em que h cinco sbados. De modo geral, na UDV os solteiros so de certo modo estimulados ao casamento, mas no Ncleo Alto das Cordilheiras essa tendncia bem mais discreta do que em outros ncleos. De qualquer modo, h entre os casados do ncleo uns poucos que vieram a se conhecer no mbito da UDV. No ncleo significativa a presena dos separados/as, desquitados/as ou divorciados/as, perfazendo no total 22%. Ao que parece este percentual est acima da mdia da UDV. Pude observar que as pessoas desse ncleo lidam com mais naturalidade com essa presena de descasados/as que outros ncleos da UDV, ainda que algumas pessoas, principalmente mulheres, falem de algumas manifestaes de preconceito.
48
Estado Civil
2% 11% 2% 9% 23% Solteiro/a (13) Casado/a (30) Vivo/a (1) Divorciado/a (6) Desquitado/a (1) Separado/a (5)
53%
Quanto escolaridade, trata-se de um dos aspectos mais especficos do Ncleo Alto das Cordilheiras, em comparao com os demais ncleos da UDV. H 78% dos participantes com nvel superior. So pouqussimos os de nvel primrio (2 pessoas), e os de secundrio totalizam 10 pessoas, ou seja, 18%. Quanto aos de nvel superior, h 5 pessoas (9% do total geral) que tem curso superior incompleto, 25 com a graduao completa (44%), 4 com mestrado (7%) e 10 com doutorado (18%), alguns deles com a psgraduao ainda em curso. Esse contingente to grande de ps-graduados certamente o mais elevado proporcionalmente em toda a UDV. Assim, o Ncleo Alto das Cordilheiras tem um certo tom mais cultivado claramente perceptvel, seja nas perguntas e respostas durante as sesses, seja nos temas abordados, seja nas atividades e eventos realizados.
Escolaridade
100% 10 80% 60% 40% 20% 0% 5 10 2 4 25 Doutorado (10) Mestrado (4) Superior completo (25) Superior incompleto (5) Secundrio (10) Primrio (2)
49
reas Profissionais
15 10 5 0 1 15 14 11 10 8 4 Artes e Arquitetura - 15 Educao - 14 Sade - 11 Cincia e Tcnica 10 Relaes Humanas -8 Estudantes - 4
No que toca s reas profissionais s quais os membros do ncleo se dedicam, pode-se observar a incidncia maior de determinadas profisses. A partir das respostas questo qual a sua profisso?, a qual permitia que cada um desse mais de uma resposta, se fosse o caso, agrupei as profisses citadas de um modo um tanto quanto arbitrrio, apenas para que se tenha uma idia das reas mais presentes. A primeira em nmero de citaes (15) a que chamei Artes e Arquitetura. O Mestre Representante do ncleo arquiteto, e, provavelmente devido ao seu crculo de contatos, h 6 arquitetos no ncleo, ou seja mais de 10% do total pesquisado. A eles foram somados alguns msicos e artistas plsticos. H alguns meses msicos profissionais e amadores do ncleo tm se reunido semanalmente com vistas realizao de um projeto de formao de um grupo musical profissional. Essa presena significativa de artistas pode ser relacionada a um tom sensvel e outsider19 que reveste esse ncleo de uma certa peculiaridade dentre os demais da UDV. Em seguida, a segunda maior rea a da Educao (14). So 8 os professores universitrios, 2 deles mestres e 3 conselheiros. H tambm um significativo nmero (11) de profissionais da rea de Sade: so 6 mdicos, 4 psiclogos e 1 dentista. No conjunto, percebe-se um claro predomnio das reas humanas e biolgicas sobre as exatas.
Emprego aqui esta expresso no sentido apontado por Becker: I have been using the term outsiders to refer to those who are judged by others to be deviant and thus to stand outside the circle of normal members of the group. (BECKER, 1966, p. 15).
19
50
N o mo me nto e mpre g ado ?
S im - 38 4%6% 6% 10% N o - 5 A pos entado/a - 3 S om ente es tudante - 2 S om ente dona de c as a - 3
74%
A grande maioria dos membros do ncleo encontrava-se empregada no tempo da pesquisa. So 74% com emprego, os quais, somados aos aposentados (6%), donas de casa (6%) e estudantes (2), perfazem 90% do total de membros. H somente 5 pessoas (10%) que se afirmaram desempregados. Quanto participao poltico-partidria, 60% no nem filiado nem simpatizante de algum partido poltico. H somente 1 pessoa que tem filiao partidria, no caso ao PT. E h 38% que, mesmo sem serem formalmente filiados, se declararam simpatizantes de algum partido: a maioria do PT, 15 pessoas, o que perfaz 72% dos que tm simpatia por partidos. E o PV tem 3 simpatizantes (14%), assim como o PSDB.
Participao Partidria
Simpatizantes de Partidos
Filiado (1) No, nem simpat. (34) Simpatizante (21)
14% 14% 72% Simpatizante PT (15) Simpatizante PV (3) Simpatizante PSDB (3)
60%
38%
2%
No que toca ao nvel scio-econmico, a grande maioria (86%) se reconhece como integrante da classe mdia. Dentre esses, 56% do total afirmam pertencer classe mdia mdia, e 14% mdia inferior. J quanto classe trabalhadora, outros 14% assim se identificaram. No entanto, houve uma certa ambigidade quanto a esse ltimo termo, de modo que nem sempre essa classificao coincidiu com o grupo daqueles que tm a mais baixa renda familiar mensal. Ainda que haja uma parcela significativa que tem renda
51
familiar mensal acima dos 30 salrios mnimos (30%), ningum se considera da classe alta, mas 16% se vem como integrantes da classe mdia alta. Se somarmos aos que ganham mais de 30 salrios mnimos os que recebem de 20 a 30 salrios (18%), chegaremos aos 48%, ou seja, poder-se-ia dizer que quase a metade dos scios do ncleo tem um padro de vida confortvel. Enquanto isso, os que tm renda entre 10 a 20 salrios so 30%, os quais, somados aos que recebem de 5 a 10 salrios (13%), perfazem 43% nesse nvel mediano. E apenas 5 pessoas (9%) esto na faixa inferior, com renda de 0 a 5 salrios mnimos.
Faixa de renda familiar mensal
0 a 5 salrios mnimos -5 5 a 10 salrios mnimos - 7
9% 30% 13%
10 a 20 salrios mnimos - 17 20 a 30 salrios mnimos - 10 mais de 30 salrios mnimos - 17
18%
30%
52
Classe social
0%
16%
14% 14% trabalhadora - 8 mdia inferior - 8 mdia mdia - 31 mdia alta - 9 alta - 0
56%
Quanto a bens imveis ou bens de consumo durveis, interessante observar que 39 pessoas dentre as 56 pesquisadas (69% do total) tm casa prpria e 46 pessoas possuem automvel (82% do total). E 42 (75%) tm computador, dos quais 37 (66%) tm conexo com a Internet.
Bens possudos
60 50 40 30 20 10 0 1 9 56 49 39 46 42 37 total pesquisado 56 casa prpria - 39 telefone - 49 automvel - 46 computador - 42 conexo Internet 37 casa de praia/campo - 9
53
Tempo de Participao na UDV
9%
Pirmide doTempo de Participao na UDV
20 a 24 anos 8 15 a 19 anos 20 10 a 14 anos - 9 5 a 9 anos - 14 0 a 4 anos - 5
14%
0 a 4 anos - 5 5 a 9 anos - 14
8 20
25%
10 a 14 anos - 9
36% 16%
15 a 19 anos 20 20 a 24 anos 8 -
9 14 5
Quanto ao tempo de participao na UDV, a mdia entre os discpulos do Ncleo Alto das Cordilheiras bem alta: 12,6 anos. Dividindo-se o tempo em 5 faixas, at os 24 anos de participao, observa-se que a faixa entre 15 e 19 anos de participao a mais numerosa: 20 pessoas, ou 36%. H ainda aqueles que j tm 20 anos ou mais (at 24) de participao na UDV, os quais so em nmero de 8, ou 14%. Assim, se somarmos esses dois grupos, chegamos surpreendente afirmao de que 50% dos participantes do ncleo tem mais de 15 anos de UDV. Este dado aponta para a maturidade do grupo em seu percurso religioso de uso ritual do ch hoasca.
Lugar na Hierarquia 9% 18% 30%
Quadro de Scios - 17 Corpo Instrutivo - 24 Corpo do Conselho - 10
43%
Quadro de Mestres - 5
54
No que toca ao lugar na hierarquia da UDV, a maioria, 24 pessoas (43%) se encontra no Corpo Instrutivo (CI). O Quadro de Scios menor: apenas 17 pessoas (30%). O Corpo do Conselho (CDC), que com os Mestres integra a Direo do Ncleo, formado por 10 pessoas (18%), enquanto que o Quadro de Mestres (QM) tem a metade, 5 pessoas (9%). O grfico em forma de pirmide abaixo bem esclarecedor, na medida em que cada grau abrange tambm os que se encontram acima dele. Assim, por exemplo, quando h sesses instrutivas, participam os do CI, do CDC e do QM. O topo da pirmide, o Quadro de Mestres, est at agora vedado participao das mulheres.
Pirmide do Lugar na Hierarquia
5 10 24
17
Quadro de Mestres - 5 Corpo do Conselho - 10 Corpo Instrutivo 24 Quadro de Scios - 17
Observando quais as religies anteriores dos participantes do ncleo, v-se que h um predomnio significativo dos catlicos: 37 pessoas, 66% do total. A seguir vm os que no tinham religio antes da UDV: 10 pessoas ou 18%, imediatamente seguidos pelos espritas kardecistas, 9 pessoas ou 16%. H tambm um nmero razovel de pessoas 6 (10%) que freqentaram sociedades esotricas, como a Ordem Rosacruz. Na seqncia aparecem 16 religies, cada uma com de 3 a 1 meno. Essa variedade exuberante bem conforme a um certo trao buscador de muitos que procuram a UDV e l permanecem. O nmero relativamente alto de pessoas sem religio acena para algo que as entrevistas vrias vezes apontaram: como a experincia de estado alterado de conscincia com o ch hoasca propiciou para vrios agnsticos ou ateus uma descoberta da dimenso religiosa da existncia que os levou a uma converso.
55
Religies Anteriores
"Ecumnica" Haja Yoga Meditao Transcendental Quimbanda Taosmo Sufismo Xamanismo Islamismo Mrmons Igreja Ortodoxa Igrejas Evanglicas Pentecostais Judasmo Igrejas Evanglicas Budismo Candombl Umbanda Ordens Esotricas Espiritismo Kardecista Sem religio Catolicismo
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3
9 10 20
37 40
O catolicismo tambm o mais numeroso no grfico das religies das mes dos membros do ncleo, 38 pessoas o mencionaram. A seguir se encontra a UDV, o Espiritismo Kardecista e Igrejas Evanglicas, cada um dos trs com 4 menes. Quanto s religies dos pais, o catolicismo tambm o primeiro, mas com um decrscimo em relao s mes, apenas 29 mencionaram esta como a religio de seus pais. Aqui significativo o nmero de pais sem religio: 8. Esse grupo sem religio bem mais reduzido entre as mes: apenas 2.
56
R eligies do s Pais
Esoterismo 1 1 2 3 4 4 5 8 29 0 10 20 30 Igreja O rtod oxa Juda smo M rm ons Igreja s Eva nglicas Espiritismo Karde cista UDV Sem religi o C ato licismo
Religies das Mes
"Ecumnica" Igreja Ortodoxa
1 1 1 2 2 4 4 4 38 0 10 20 30 40
Mrmons Sei-cho-noie Sem religio Igrejas Evanglicas Espiritismo Kardecista UDV Catolicismo
57
Estes breves traos aqui expostos podem possibilitar ao leitor alguma idia da insero scio-econmico-cultural dos participantes do ncleo. No entanto, estou consciente das limitaes deste quadro, como por exemplo a ausncia de dados a respeito dos participantes da UDV como um todo, para efeitos comparativos. Alm disso, importante perceber que no se trata de dados brutos. H certamente, dados objetivos, como a idade das pessoas. Mas, a todo momento manifesta-se o filtro da percepo individual, seja a dos informantes, seja a minha prpria. Por exemplo, ao responder acerca de sua insero em determinada classe social, cada qual se enquadrou segundo os seus prprios critrios a respeito do que vem a ser classe mdia mdia ou classe mdia alta. Ou, quando perguntei acerca da religio dos pais, a maioria das pessoas respondeu apontando para apenas uma, ainda que seus pais possam ter mltiplas pertenas religiosas simultneas, sem falar na diversidade de pertenas diacronicamente. Portanto, este captulo expressa, de certo modo, a representao que os prprios participantes fazem de si, a partir do recorte traado por mim. Assim, este perfil tem algo de impressionista - trata-se simplesmente de um olhar para alguns aspectos selecionados por mim e informados pelos prprios discpulos do Ncleo Alto das Cordilheiras.
58
2. A ESTRELA DO NORTE
2.1. A VIDA DE MESTRE GABRIEL
Ali eu diante de portas abertas, por livre ir, s larguras da claridade... Joo Guimares Rosa, Grande Serto - Veredas
Neste captulo delinearei, a partir das narrativas de participantes, o itinerrio histrico fundacional da Unio do Vegetal, tanto em Rondnia, quanto, depois, em So Paulo. Em 22 de julho de 1961, Jos Gabriel da Costa fundou a Unio do Vegetal, na Amaznia, em regio prxima fronteira entre o Brasil e a Bolvia. No ano de 1965, Jos Gabriel da Costa mudou-se para Porto Velho, onde consolidou a Unio recm-fundada. Ainda em vida de Mestre Gabriel, foi fundado o ncleo de Manaus e em 1972, um ano aps seu falecimento, j se inaugurou o ncleo de So Paulo. Inicio apresentando a trajetria de Jos Gabriel da Costa e relacionando-a com aspectos da especificidade cultural brasileira. Acompanhando o percurso de sua vida, possvel tecer uma ampla rede de relaes com diversas configuraes culturais presentes na sociedade brasileira.
O menino de Corao de Maria
Segundo declaraes de familiares20, no dia 10 de fevereiro de 1922, ao meio-dia, na Fazenda Arroz, no municpio de Corao de Maria, prximo a Feira de Santana, na Bahia, nasce Jos Gabriel da Costa. Filho de Manuel Gabriel da Costa e Prima Feliciana da Costa. Jos nasce em uma numerosa famlia de treze irmos: Joo, Dionsio, Otaclio, Pedro, Romo, Maria, Mida, Jos Gabriel, Sinh, Alfredo, Antnio, Maximiano, Hiplito. No livro Unio do Vegetal: Hoasca; Fundamentos e Objetivos, o nico texto editado para o grande pblico at o momento pela instituio, apenas trs pginas tratam da vida do fundador da UDV. Assim, tivemos de buscar informaes junto a parentes e outras pessoas que com ele conviveram, alm de pesquisar no jornal Alto Falante, do Departamento de Memria e Documentao do CEBUDV.
20
Depoimento de Antnio da Costa, irmo de Jos Gabriel da Costa, em 4 de novembro de 1995.
59
De acordo com seus parentes, desde pequeno, Jos j se destacava como algum especial. Contam que ainda criana, ele auxiliou uma mulher com dificuldades de parto. O beb se encontrava mal posicionado e a parteira temia que morressem me e filho. Jos entra no quarto, manda todos sarem, tranca a porta e logo em seguida a destranca. Quando o menino abre a porta, simultaneamente nasce a criana. Na dcada de 20, o menino Jos cresce em um meio rural fortemente marcado pelo catolicismo popular. Uma recordao que narram de sua infncia que o garoto ia aos domingos igreja de sua cidade e levava com ele um barbante. Durante a missa, amarrava as pessoas umas s outras, pelos passantes das roupas, sem que elas percebessem (CENTRO DE ESTUDOS MDICOS DA UDV, 1993, p. 1)21. Tambm conta o seu irmo Alfredo:
Minha me era muito devota e zeladora da igreja onde a gente congregava e a missa. E ela tinha o capricho de levar os filhos pra fazer a primeira, segunda e terceira comunhes. E justamente, no sei se na segunda ou na terceira comunho, ele representou alguma coisa ao padre, que eu no sei o que possa ter sido, que o padre ficou abismado. Ele se confessou e na confisso contou ao padre um assunto religioso. No foi uma histria qualquer, certamente, que o padre ficou espantado. Depois, o padre passou a dizer minha me: Dona Prima, aquele menino seu qualquer coisa. A senhora cuide daquele menino, que ele bem diferente. Ele me representou l um ato que eu fiquei bobo. No sei. Onde que aquele menino esteve? E minha me: No, ele no sai de casa, trabalhando junto com os outros, indo escola, escolinha fraca... E o padre: . Aquele menino tem qualquer coisa. Chamava-se Padre Orlando, um italiano.22
Adiante, continua Alfredo a falar da participao de seu irmo nas devoes do catolicismo popular baiano:
Ele no era homem de s andar com o nome de Deus na boca. Mas ele gostava de rezar. Nossa tia era uma rezadeira, Tia Rosa. Rezadeira de tero naquelas casas. Ento o pessoal vinha cham-lo pra rezar. E ele, por ter voz bonita pra cantar - e l tinha aqueles benditos - minha tia levava ele. E ele tinha aquele catecismo que os padres
O texto continua: Jos Gabriel da Costa - Mestre Gabriel - era esse menino. Fundou a Unio do Vegetal para continuar unindo as pessoas. 22 Entrevista de Alfredo Gabriel da Costa a Edson Lodi, em 17 de abril de 1987, na Estncia Centro-Oeste. In: Memrias, Volume I. Centro de Memria e Documentao do CEBUDV. p. 59.
21
60
davam pra gente se preparar. Pois aquele catecismo ele lia de cor. E sabia aquela ladainha, Salve Rainha. Ele rezava cantando. O pessoal vinha sempre chamar pras novenas de Santo Antnio e as do ms de Maria, que eram dois meses de festa. Ele acompanhava tudo. Ento, era uma pessoa devota. L em casa tinha uma grande festa, que meu pai comemorava mesmo. Era aquela chegana. Era o 6 de janeiro. Chamavase marujada. E Jos era um dos marujos. Eles representavam aqueles tempos de Reis Magos.23
Nas chamadas, hinos entoados durante o ritual da Unio do Vegetal, h referncias constantes a Jesus e a santos catlicos: a Virgem da Conceio, So Joo Batista, a Senhora Santana, So Cosme e So Damio. E at hoje o dia 6 de janeiro, Dia de Reis, celebrado na UDV. Aos 13 anos de idade, em 1935, emprega-se num estabelecimento comercial. Aos 18 anos, presta servio militar voluntariamente na Polcia Militar da Bahia, chegando em poucos meses patente de cabo de esquadra. Segundo seu irmo Antnio, atualmente tambm mestre na UDV, Jos Gabriel conheceu todas as religies, conheceu os terreiros de Salvador, andou por todas as religies procurando a realidade24. Segundo outro mestre, Jos iniciou na cincia esprita com apenas 14 anos de idade25. Provavelmente, esta informao refere-se participao de Jos em terreiros de candombl, e no em centros kardecistas, com os quais entretanto ele tambm entrou em contato, s que posteriormente, em Salvador. Em 1942, Jos Gabriel passou a morar em Salvador26. Segundo o pesquisador Afrnio Patrocnio de Andrade, que em 1995 fez uma dissertao de Mestrado em Cincias da Religio, na Universidade Metodista de So Paulo, acerca da Unio do Vegetal, Jos Gabriel freqentou sesses espritas kardecistas na Bahia (ANDRADE, 1995, p. 170). Foi, alis, em Salvador que teve incio o espiritismo kardecista no Brasil, no ano de 1865. Lus Olmpio Teles de Menezes fundou nesse ano o centro esprita Grupo Familiar do Espiritismo (GIUMBELI, 1995, p. 29)27. De acordo com Patrocnio de Andrade, certos temas recorrentes na Unio do Vegetal poderiam ter sido colhidos do espiritismo kardecista. Antes de mais nada, a viso reencarnacionista, um dos
23 24
Id., p. 65. Depoimento de Antnio da Costa, id. 25 Depoimento de Hilton Pereira de Pinho, s.d., p. 2. 26 Entrevista de Alfredo Gabriel da Costa. Id. p. 49. 27 Cf. tb. KLOPENBURG, 1960, p. 25.
61
eixos fundamentais da viso de mundo da UDV. Assim como o lema Luz, Paz e Amor, denominado o smbolo da Unio, poderia provir dos temas espritas da luz interior, da paz de esprito e do amor ao prximo (ou caridade). A prpria nfase na Unio freqente entre os espritas no Brasil. (ANDRADE, Id.)
O capoeirista
Segundo um mestre que conviveu com ele, Jos foi considerado pelos prosadores populares um dos melhores poetas da regio; como cantador repentista teve sucesso inclusive em Alagoas e Sergipe28. Tambm se destacou na capoeira, chegando a ser considerado um dos melhores capoeiristas do Nordeste. O livro de Ruth Landes, A cidade
das mulheres, nos auxilia a traar um panorama dos ares soteropolitanos da dcada de 30,
que Jos tantas vezes respirou. A autora levada por Edison Carneiro para assistir uma capoeira. Ela descreve detalhadamente a seqncia do jogo, e em certo momento, observa: silenciados os ecos do desafio, terminada a rodada, os dois homens andavam e corriam sem descanso em sentido contrrio aos ponteiros do relgio, um atrs do outro, o campeo frente com os braos levantados (LANDES, 1967, p. 117. Grifo meu). interessante notar que no ritual da UDV a circulao das pessoas no salo se faz tambm no sentido anti-horrio, pois este o sentido da fora. Na capoeira, Jos cultiva uma srie de habilidades postas em prtica posteriormente, em suas experincias de incorporao nos toques de caboclo como Sulto das Matas. Do mesmo modo, tais habilidades tambm foram exercitadas como Mestre da UDV. Evocadora desse ambiente capoeirista a cantiga de domnio pblico gravada por Nara Leo, s vezes tocada em sesses da UDV:
Minino, quem foi teu mestre? Meu mestre foi Salomo. A ele devo dinheiro, saber e obrigao. O segredo de So Cosme quem sabe So Damio, ol gua de beber, camarada gua de beber, ol gua de beber, camarada faca de cortar, ol Faca de cortar, camarada,
28
Depoimento de Hilton Pereira de Pinho. Id.
62
Ferro de engomar, ol Ferro de engomar, camarada Perna de brigar, ol Perna de brigar, camarada. Minino, quem foi teu mestre?29
Estaria relacionada capoeiragem uma das explicaes possveis, apresentada por familiares, para a viagem do jovem Jos da Bahia para o Norte. De acordo com relato de seu filho Carmiro Gabriel da Costa, em 1943, Jos envolve-se num conflito. Um amigo seu, de nome Mrio, tem o p pisado por um policial. Jos Gabriel compra a briga do Mrio. Este foge e os policiais seguram Jos. Num golpe de destreza, ele consegue se desvencilhar dos policiais. Segue para um navio, para onde tinha ido se refugiar o amigo Mrio. Os dois se alistam no Exrcito da Borracha e rumam para o Norte no navio Par, da frota do Lloyd Brasileiro. Tudo indica que Mrio era companheiro de capoeira de Jos Gabriel. No mundo da capoeiragem na poca, a tica dos grupos sublinhava a importncia da solidariedade e fidelidade entre os camaradas. E eram freqentes os conflitos entre os grupos, com a polcia ou com indivduos de outros segmentos da sociedade. Em dissertao acerca da capoeira no Rio de Janeiro de 1890 a 1937, Antonio Pires afirma que as relaes de conflito e solidariedade na capoeiragem estiveram permanentemente relacionadas com os conflitos mais gerais da sociedade (PIRES, 1996, p. 143). Parece que j se esboa nesse tempo a preocupao de Jos Gabriel com a justia. Sua participao na capoeiragem em Salvador no conflita com seu engajamento profissional, primeiramente como comercirio e depois como enfermeiro. Como observa Antonio Pires quanto capoeira no Rio, a maioria dos capoeiras comprovaram manter vnculos com o mundo do trabalho, descaracterizando o esteretipo de vadios construdo em relao a eles.30
29
Cf. outra cantiga semelhante, recolhida por Edison Carneiro: Minino, quem foi teu mestre? quem te ensin a jog? - S discipo que aprendo Meu mestre foi Mangang Na roda que ele esteve, outro mestre l no h. (CARNEIRO, 1974, p. 138). 30 Id., p. 201.
63
O seringueiro do Exrcito da Borracha
Chegando a Manaus, Jos Gabriel e Mrio embarcam no navio Rio Mar, com destino a Porto Velho, onde chegam em 13 de setembro de 1943, s 20 horas; neste mesmo dia estava sendo festejada a criao do Territrio do Guapor31. Os dois vo juntos para o trabalho na seringa e fazem um pacto de amigo, de s se separarem pela morte. Como narra Carmiro:
Quando ele veio da Bahia, ele veio com um amigo dele chamado Mrio. E eles fizeram um pacto de amigo de se separar s com a morte. E vieram l pra aquela regio, a regio do Alto Guapor. E l naquela poca os patres de seringal levavam os seringueiros l pra cortar a borracha e na hora de tirar o soldo, que o valor que a pessoa tem a receber do patro, eles mandavam os capangas pra tirar o soldo. [...] Mas no era bem isso, no, ele ia l, matava o seringueiro e contratava outro. O cara trabalhava e pagava com a vida. [...] A ele [Gabriel] disse: - Mano ns vamos se embora. - Se embora? - Ns vamos se embora porque amanh os capanga do gerente vai vir aqui e vai matar ns dois. E contou a histria pra ele. - Gabriel, tu vai, que eu no posso andar. Ele disse: - Eu lhe carrego! - Mas rapaz, tu vai te atrasar. - O pacto que ns temos nos separar com a morte. Tu ainda est vivo. Quando tu morrer eu te enterro. 32
Jos Gabriel cumpre at o fim esse pacto, chegando a carregar Mrio nas costas por vrios quilmetros. Quando o doente morre, seu amigo sozinho o enterra na floresta. Tendo chegado no Territrio do Guapor33, atual Estado de Rondnia, Jos Gabriel se inseriu num ambiente com uma configurao ecolgica e scio-cultural bem distinta da Cidade de Salvador. O extrativismo da borracha, depois de seu perodo de boom, entre 1890 e 1912, havia em seguida atravessado uma fase de declnio, devido concorrncia no mercado internacional da borracha extrada na sia. Com a Segunda Guerra Mundial, apresentou-se a necessidade de borracha para os exrcitos Aliados. Com a assinatura de
31 32
Hilton Pereira de Pinho, s.d. p. 2. Depoimento de Carmiro Gabriel da Costa, filho de Jos Gabriel da Costa, em 4 de novembro de 1995. 33 A respeito do Territrio, vide a dissertao de mestrado em histria de Emanuel Pontes Pinto, Criao do Territrio Federal do Guapor: fator de integrao da fronteira ocidental do Brasil. (PINTO, 1992).
64
acordos com os Estados Unidos, o Governo Vargas iniciou uma ampla campanha de recrutamento de trabalhadores, principalmente nordestinos, para a extrao gomfera no Norte. Em 30 de novembro de 1942, foi criado o Servio Especial de Mobilizao de Trabalhadores para a Amaznia, SEMTA, que, no perodo de menos de um ano durante o qual funcionou, teria encaminhado 13 mil pessoas, segundo um depoimento de seu chefe34. Essa agncia foi substituda pela Comisso Administrativa de Encaminhamento Trabalhadores para a Amaznia, CAETA, que funcionou at 1945 e teria enviado Amaznia, de acordo com um relatrio, 24.300 nordestinos. Assim, ainda que haja outras estimativas numricas, segundo esses dados oficiais, teriam sido levadas para o Norte pelo SEMTA e pela CAETA um total de aproximadamente 40 mil pessoas (MORALES, 1999, p. 88-92). No ano de 1943, Jos Gabriel integra essa massa de trabalhadores nordestinos que se lanam como brabos nos seringais amaznicos. Brabo gente que nunca cortou seringa, nunca andou na floresta. Sofremos muito, como brabo - declara Pequenina, esposa de Jos Gabriel35. O sofrimento daqueles homens, submetidos a condies de vida e trabalho extremamente penosas, em um ambiente desconhecido, sem o auxlio governamental prometido pela propaganda oficial, ficou bem marcado na memria dos sobreviventes da batalha da borracha. A antroploga Lcia Arrais Morales, em sua tese doutoral a respeito dos soldados da borracha, recolheu o seguinte depoimento, de um Sr. Chico, ex-integrante do Exrcito da Borracha, que bem se assemelha ao da esposa de Jos Gabriel:
Samo de Manaus de noite. [...] Ns cheguemo l, a o cabo disse: aqui veio 35 homens para voc, pra seu pai. [...] A a casa dele era bem pequenininha. Num tinha onde a gente dormir. Dormimo no teto mermo. Carapan! Carapan, e agora, a comida? Tudo brabo, tudo! A gente j tinha deixado a Companhia [SEMTA]. A fiquemo sofrendo. Fiquemo jogado que nem cachorro na beira do rio. [Qual?] era o Solimes acima de Tef. A eu disse: ombora pessoal! vamo meu povo!, bora cuidar!, bora se virar. A embarquemo numa canoa veia [velha], jogada por ali, furada. Arremendamo com pano, com vara. Outros pegaram pau, pedao de tauba e fumo procurar colocao pra cortar seringa. (MORALES, 1999, p. 236).
Depoimento de Paulo de Assis Ribeiro, Chefe do SEMTA, CPI acerca dos soldados da borracha em 13 de agosto de 1946. (MORALES, 1999, p. 89, nota 6). 35 Entrevista de Mestre Pequenina e Mestre Jair. In: Alto Falante, Jornal do Departamento de Memria e Documentao da UDV. Braslia: ago-out 1995, p. 6.
34
65
Morales observa que aqueles que conseguiram sobreviver a condies to adversas foram homens de significativa inteligncia e iniciativa, que conseguiram adaptar seus esquemas de percepo e recursos cognitivos nova realidade em que se encontravam:
Era a questo da sobrevivncia mesma que estava em jogo e, por isso, precisavam agir de forma conseqente. No ficaram merc dos acontecimentos, esperando uma ajuda externa. [...] frente a isso que o Sr. Chico diz: ombora pessoal! bora se virar!. Adotam, ento, uma linha de ao onde predominam a iniciativa e a coragem. Onde prevalecem a concentrao dos recursos da percepo, da memria e da ateno para dirigir esforos na descoberta de meios capazes de resolver a questo. (Id., p. 243)
Jos Gabriel foi um desses homens de aguda inteligncia e destreza, que no somente conseguiu sobreviver como chegou a ser considerado pelos seus companheiros como o Tuchaua, o seringueiro que coletava maior quantidade de seringa na regio36. Tais xitos eram acompanhados de dureza e sofrimento, como quando Jos Gabriel pisou em uma arraia, e teve de passar um ano e dez meses sem poder andar, de muleta.37
O og do terreiro de Chica Macaxeira
Depois de trabalhar um tempo no seringal, Jos Gabriel muda-se para Porto Velho, onde fica trabalhando como servidor pblico, enfermeiro no Hospital So Jos. Conhece, em 1946, Raimunda Ferreira, chamada Pequenina, com quem se casa no ano seguinte. Do casamento nasceram os seguintes filhos: Getlio, Jair, Jandira, Salomo, Benvindo, Carmiro, Abomir e Jos Gabriel Filho. Em Porto Velho, Seu Gabriel atendia pessoas em sua casa, pois jogava bzios. Mais tarde, se torna Og e Pai do Terreiro de So Benedito, de Me Chica Macaxeira38. Esse terreiro foi citado por Nunes Pereira (PEREIRA, 1979, p. 121-143. 223-225), que o visitou, possivelmente em meados da dcada de 60 ou no incio dos anos 70. O pesquisador maranhense reconhece o terreiro de Porto Velho como sendo da tradio mina-jeje, oriundo da Casa das Minas. Os toques, inegavelmente, tinham a rtmica que me era familiar no s da Casa das Minas, de So Lus do Maranho, como do Bogum de Me Valentina, em Salvador, Estado da Bahia. (Id., p. 223).
36 37
Entrevista de Mestre Florncio. In: Alto Falante. Braslia: fev-set 1996, p. 8. Entrevista de Mestre Pequenina e Mestre Jair. Id., p. 6. 38 Entrevista do Conselheiro Paixo. Alto Falante. Braslia: abr-jun 1995, p. 8-9.
66
surpreendente descobrir que Nunes Pereira encontrou no Terreiro de Chica Macaxeira uma inovao no ritual mina-jeje, o uso da ayahuasca. E isso, sem dvida, para estimular, paralelamente, com os cnticos rituais e com a voz sagrada dos tambores, ogs e gs, o estado de transe, a possesso que ligam os Voduns do panteo daomeano ou do ioruba s gonjais e noviches que o cultuam (Id. p. 142). Ora, no tempo em que Jos Gabriel l trabalhava como Og, no havia utilizao da ayahuasca no culto, tanto que ele somente viria a conhecer a bebida anos depois, no seringal. Assim, legtimo supor que, possivelmente, a Me-de-Terreiro Chica Macaxeira conheceu a ayahuasca atravs de seu antigo Og e Pai-de-Terreiro Jos Gabriel. Quando Nunes Pereira visitou o terreiro, o conjunto dos cnticos era l denominado Doutrina da Ayahuasca. Nomes de santos catlicos, nalguns desses cnticos, se misturaram com os dos Voduns mina-jejes, tais como Xang, Bad, Avrqute, e os ditos Baro de Gor, Sulto das Matas, Marangal, Jatpequare, Tindarer, etc. (Id. p. 143, grifo meu). significativo que nos anos 60 ou 70 haja a presena do Sulto das Matas na lista das entidades do terreiro, j que, como se ver adiante, Jos Gabriel recebia esse caboclo quando trabalhava num terreiro que armou no seringal, nos anos 50.
O Sulto das Matas e os xams da fronteira boliviana
At 1950, Jos Gabriel morava com Pequenina em Porto Velho. O casal j tivera dois filhos: Getlio e Jair. Alm de trabalhar como enfermeiro, ele tinha tambm uma taberna de bebidas. E gostava de poltica. Os dois partidos que disputavam o governo do Territrio do Guapor eram liderados pelo Major Aluizio Ferreira, ex-diretor da Estrada de Ferro Madeira-Mamor que tinha sido o primeiro governador do Territrio, e o Tenente Coronel Joaquim Vicente Rondon (PINTO, 1992, p. 216). Jos Gabriel era pr-Rondon. No entanto, seu candidato perdeu, e ele foi perseguido em seu emprego pblico no hospital. Tendo de se afastar de seu trabalho, Jos resolve voltar para o seringal. Mais tarde, quando esto no Seringal Porto Lus, Pequenina fica sabendo de um ch: o pessoal v isso, v aquilo, o cara falou at com o filho depois de morto39. Ela fala a Jos Gabriel e ele vai pedir o ch ayahuasca a quem o distribua no lugar, o Mestre Bahia. Mas o homem disse que no dava o Vegetal praquele baiano que sabe aonde as andorinhas
39
Entrevista de Mestre Pequenina e Mestre Jair. Id. p. 7.
67
dormem40. A ele volta mais uma vez para Porto Velho e monta o comrcio de novo. Assim, na dcada de 50, a famlia de Jos Gabriel e Pequenina esteve indo e voltando para o seringal e Porto Velho. Tendo se mudado para o seringal Orion, Jos Gabriel abriu o terreiro no qual recebia o caboclo Sulto das Matas. Como recorda Mestre Pequenina, vinha gente de tudo quanto era seringal41 consultar o Sulto das Matas. E ele curava as pessoas, assim como indicava o lugar certo onde se encontrava caa. Adaptando-se a um novo contexto scio-ecolgico-cultural, Jos Gabriel dirige um rito sincrtico afro-indgena, no qual o valor simblico da floresta, que perpassa toda a vida dos seringueiros, fica evidente. Tal rito, designado pelo filho de Jos Gabriel simplesmente como macumba42, parece assemelhar-se pajelana cabocla amaznica43, uma forma de xamanismo no-indgena na qual tem importncia fundamental a noo de incorporao do curador por entidades espirituais que agem atravs dele para a cura dos doentes. No entanto, certamente permaneciam marcantes nos toques do Seringal Orion os elementos religiosos afros vivenciados anteriormente por Jos Gabriel, seja na Bahia, seja em sua participao no Terreiro de So Benedito de Porto Velho. Posteriormente, a famlia volta para Porto Velho. Depois de um tempo, ele decide vender tudo e ir novamente para o seringal. As crianas estavam em idade escolar. Sua mulher, ento, discorda:
Eu disse: No, o que isso? Eu no nasci no seringal, em mato. No quero criar meus filhos sem saber ler e escrever. Ele disse: porque eu vou atrs de um tesouro. Mas eu era uma pessoa de cabea cheia de muitas coisas e achei que era riqueza material que ele ia achar, e ns ia enricar, ter uma vida de rosa. Ento, quando ele disse que ia, eu disse: Ento, vamos. Ento eu digo que esse tesouro que ele encontrou junto comigo e os dois filhos, pra mim, um tesouro to maravilhoso que dinheiro nenhum no paga essa felicidade. (...) Ento, esse tesouro, que a Unio do Vegetal, tem me amparado.44
40 41
Id., p. 7. Entrevista de Mestre Pequenina e Mestre Jair. Id., p. 7. 42 Id., p. 9. 43 Cf. MAUS, Raymundo Heraldo. Padres, Pajs, Santos e Festas: Catolicismo popular e controle eclesistico. Belm: CEJUP. 44 Entrevista de Mestre Pequenina e Mestre Jair. Alto Falante. Braslia: ago-out 1995, p. 7.
68
Nestas palavras de Mestre Pequenina e provavelmente tambm na afirmao de Jos Gabriel, poder-se-ia detectar a presena dos motivos ednicos que povoaram o imaginrio das populaes que se defrontaram com a floresta amaznica. Nos sonhos e anseios dos nordestinos pobres que se lanam na aventura da borracha ecoam ainda as buscas das estranhas coisas deste Brasil: do Eldorado, da Lagoa do Vupabuu, ou da serra anunciada por Filipe Guilln, que resplandece muito e que, por esse seu resplendor era chamada sol da terra (HOLANDA, 1994, p. 36-37). Posteriormente, o sonho do tesouro a ser encontrado na selva ressignificado, passando a expressar a Unio do Vegetal, que nasce da floresta, de um lquido tambm dourado, denominado por vezes de ch misterioso45. Tempos depois, no seringal Guarapari, numa colocao chamada Capinzal, na regio da fronteira boliviana, Jos Gabriel recebe pela primeira vez o ch, de um seringueiro chamado Chico Loureno, no dia 1 de abril de 1959. Chico Loureno representa uma tradio indgena-mestia de uso xamnico da ayahuasca que se espalha por uma ampla regio da Amaznia ocidental. Tal tradio designada posteriormente pela UDV como a dos Mestres de Curiosidade. A se inicia nova etapa na trajetria de Jos Gabriel.46
O Mestre e Autor da Unio do Vegetal
Jos Gabriel bebe trs vezes o ch com Chico Loureno e, logo depois, viaja por um ms para levar um filho doente a Vila Plcido, no Acre. Quando retorna traz um balde com o cip mariri e folhas de chacrona que colheu no caminho. Diz mulher: Sou Mestre, Pequenina, e vou preparar o mariri 47. Segundo seu filho Jair, nesse perodo o Mestre Gabriel no deixou a macumba no. Ele fazia uma Sesso de Vegetal e uma de umbanda.48
Artigo: Convico do Mestre. In: Jornal O Alto Madeira. Porto Velho, 7 de outubro de 1967. Haveria muito a observar acerca da tradio vegetalista amaznica, o que transbordaria o mbito desta breve exposio da trajetria de Jos Gabriel da Costa. Remeto aos textos de Luis Eduardo Luna e Edward MacRae citados na bibliografia. 47 Entrevista de Mestre Pequenina e Mestre Jair. Id. p. 8. 48 Id. p. 9.
46
45
69
Somente em 1961 ele reuniu as pessoas e disse: Eu quero falar pra vocs que tudo que o Sulto das Matas fez eu sei: Sulto das Matas sou eu.49 Este um dos momentos mais importantes de ruptura de Jos Gabriel com a tradio religiosa qual estava ligado anteriormente. Ao postular para si mesmo o poder antes atribudo entidade Sulto das Matas, o agora Mestre Gabriel nega a incorporao dos cultos de caboclo e configura o transe que ser tpico da Unio do Vegetal: a burracheira. A burracheira, que segundo Mestre Gabriel significa fora estranha, a presena da fora e da luz do Vegetal na conscincia daquele que bebeu o ch. Assim, trata-se de um transe diverso, no qual no h perda da conscincia, mas sim iluminao e percepo de uma fora desconhecida. Em seguida, Mestre Gabriel e sua famlia se mudam para o seringal Sunta. No dia 22 de julho de 1961, ele rene as pessoas para um preparo de Vegetal. Nesse dia, o Mestre Gabriel declara criada a Unio do Vegetal. Ou melhor, afirma que a UDV foi recriada, j que ela teria existido no passado, quando ele mesmo teria vivido em outra encarnao. No dia 6 de janeiro do ano seguinte, Mestre Gabriel se rene com doze Mestres de Curiosidade no Acre, em Vila Plcido. Numa sesso, eles reconhecem Gabriel como o Mestre Superior. Finalmente, no dia 1 de novembro de 1964, no seringal Sunta, realizada uma sesso na qual o Mestre Gabriel afirma que fez a Confirmao da Unio do Vegetal no Astral Superior. Logo depois, em 1965, ele se muda para Porto Velho, para l consolidar a nascente instituio. Apenas seis anos depois, se deu o falecimento de Jos Gabriel da Costa, no dia 24 de setembro de 1971. Descrevendo-se em largos traos a vida de Jos Gabriel da Costa, fica patente a sua participao numa larga seqncia de configuraes culturais muito prprias da sociedade brasileira: o catolicismo popular rural do interior da Bahia, a capoeiragem e os cultos afrobrasileiros de Salvador, a vida sofrida de seringueiro na Amaznia, a experincia de incorporao dos cultos de caboclo, o transe xamnico do hoasqueiro, e, finalmente, a atuao carismtica do fundador de um novo movimento religioso. A maleabilidade, a destreza, a vivacidade e a ginga da capoeira capacitaram Jos Gabriel a elaborar uma criativa sntese de diversos elementos culturais e religiosos, num culto profundamente adaptado realidade scio-cultural amaznica. E no apenas adaptado
49
Id. p. 9.
70
a esta, mas com virtualidades para se expandir por todo o Brasil, exatamente por ser constitudo por uma inveno vigorosa que se apropriou de configuraes provenientes de diversas regies brasileiras. Comparemos essa trajetria do fundador da UDV com o que Gilberto Freyre aponta acerca da maleabilidade da formao religiosa brasileira:
Verificou-se entre ns uma profunda confraternizao de valores e de sentimentos. Predominantemente coletivistas, os vindos das senzalas; puxando para o individualismo e para o privatismo, os das casas-grandes. Confraternizao que dificilmente se teria realizado se outro tipo de cristianismo tivesse dominado a formao social do Brasil; um tipo mais clerical, mais asctico, mais ortodoxo; calvinista ou rigidamente catlico; diverso da religio doce, domstica, de relaes quase de famlia entre os santos e os homens, que das capelas patriarcais das casasgrandes, das igrejas sempre em festas - batizados, casamentos, festas de bandeira de santos, crismas, novenas - presidiu o desenvolvimento social brasileiro. (FREYRE, 1992, p. 355).
Jos Gabriel da Costa, nascido nessa sociedade propensa a hibridismos, plena de plasticidade e inclusividade, elabora uma nova religio que tambm doce, na medida em que privilegia o sentir e propicia ao indivduo espao para que ele prprio construa suas reinvenes criativas.
71
2.2.
OS PRIMEIROS ANOS DA UNIO DO VEGETAL
EM PORTO VELHO
Por que que todos no se renem, para sofrer e vencer juntos, de uma vez? Joo Guimares Rosa, Grande Serto - Veredas
A descrio dos incios da Unio do Vegetal em Porto Velho, depois que Jos Gabriel da Costa decide mudar-se definitivamente para a capital do Territrio, no meramente a continuao lgica de um relato histrico acerca das origens da UDV. Considero que a observao do processo de solidificao e institucionalizao da nova religio em Porto Velho possibilitar-nos- uma compreenso mais ampla do movimento em direo aos meios urbanos que mais tarde se verificou na ida da UDV at o Sul. Perceber como a ida cidade j aconteceu nos incios, ou melhor dizendo, ver como a UDV veio a ser criada em meio a um movimento de ir e vir da famlia de Jos Gabriel do seringal a Porto Velho, nos servir para desnaturalizar a ida at o Sul dessa religio da floresta amaznica. Assim, o dilogo cultural da floresta (focalizada no tpico anterior) com a cidade (objeto deste tpico) constitutivo da criao do prprio Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal. Nos sete anos de contato com a Unio do Vegetal, j tive a oportunidade de conhecer nove mestres da origem, alm de dois filhos de Mestre Gabriel e um irmo dele, sendo estes trs ltimos tambm mestres da UDV. Especialmente relevantes foram as entrevistas com o M. Jos Luiz de Oliveira, atual Mestre Assistente do Mestre Geral Representante (a 2a pessoa na hierarquia), e com o M. Raimundo Carneiro Braga, exMestre Geral Representante. Alm das entrevistas feitas por mim, foi-me valiosa a consulta aos arquivos do Departamento de Memria e Documentao, onde h o registro de vrias entrevistas com os mestres antigos, algumas das quais publicadas no Jornal Alto Falante50. A partir das narrativas dessas pessoas, buscarei desenhar em largos traos o incio da UDV em Porto Velho, sem pretenses de elaborar um relato histrico compreeensivo, visando mais apresentar um perfil dos participantes, as dificuldades e os conflitos daquela etapa inicial da presena da UDV em meios urbanos.
Publicao do CEBUDV, que durante alguns anos circulou impressa, com tiragem de at 4.000 exemplares, e atualmente publicada eletronicamente, na Internet. Vide na bibliografia os nmeros consultados.
50
72
Segundo vrios relatos, no ano de 1965 que Jos Gabriel da Costa transfere-se com a sua famlia para Porto Velho, capital do ento Territrio Federal de Rondnia. Antes dessa mudana definitiva, desde 1951 a 1959, segundo sua esposa Pequenina, o casal esteve em constantes idas e vindas de Porto Velho para os seringais e vice-versa. Mas agora, em 1965, Gabriel no vai capital simplesmente motivado pelas dificuldades dos seringais, tentando vida melhor na cidade. Ele, conforme declaraes suas gravadas em fita cassette, tem a auto-conscincia de ser o portador de uma misso: plantar a Unio do Vegetal na Terra, para que um dia a UDV chegue a fazer a paz no mundo. Quando chegou em Porto Velho, Jos Gabriel da Costa ficou morando com sua famlia na Rua Abun, no 1.215. Sua casa era muito pequena, sem espao para se realizarem sesses. No mesmo ano de 1965, bebeu o Vegetal com o Mestre Gabriel o Sr. Raimundo Carneiro Braga, segundo ele mesmo afirmou em entrevista. Ele contou que o grupo que participava das sesses era pequeno:
Eram bem poucas [pessoas], no lembro bem. S sei que quando comeamos havia 16 scios; posso comprovar porque tenho l em casa o primeiro livro. Eu lidava naquela poca com a tesouraria, por isso tenho esse primeiro livro guardado.
Hilton Pereira de Pinho, j falecido, um antigo amigo, de Jos Gabriel da Costa, o conheceu em 1946, no km 101 da Estrada de Ferro Madeira-Mamor51. Jos Gabriel fazia frete de lenha no local e Hilton trabalhava como ferrovirio. Posteriormente, ele veio a ser um dos primeiros a receber a estrela de mestre e foi o primeiro presidente da Associao Beneficente Unio do Vegetal. Vinte anos aps o primeiro contato com o amigo, ele veio a beber o Vegetal pela primeira vez nos incios do ano de 1966, na sede do Crculo Esotrico da Comunho do Pensamento (CECP). Ele narra:
No dia 06 de janeiro de 1966 tivemos a primeira sesso oficial da Unio do Vegetal, precisamente 1 ano aps o mestre Gabriel ser reconhecido no astral superior como mestre geral da Unio do Vegetal, sendo esta realizada na sede da sociedade ttua, onde nos encontrvamos todos unidos.52
Essa instituio esotrica foi fundada em 27 de junho de 1909, na Cidade de So Paulo, por Antnio Olvio Rodrigues (RODRIGUES, 1991), espalhando-se pelo Brasil, de modo que na dcada de 60 j havia um Tattwa, ou seja, um Centro de Irradiao Mental, em Porto
51 52
Depoimento de Hilton Pereira de Pinho, s.d. p. 2. Idem. p. 4.
73
Velho. Dentre os mestres da origem, o M. Raimundo Carneiro Braga chegou a ser scio desse Tattwa. Durante o tempo de meu trabalho de campo, em Campinas, participei de duas sesses do Crculo Esotrico da Comunho do Pensamento (CECP). H interessantes similaridades na estrutura do ritual das sesses do CECP e da UDV. O antroplogo Wladimyr Sena do Arajo, em sua dissertao de mestrado acerca da Barquinha (ARAJO, 1999, p. 116-122), indica a influncia que ela recebeu do CECP. Essa influncia certamente bem maior do que a recebida pela UDV, j que na Barquinha h elementos propriamente doutrinrios que advm do CECP. No encontrei tais elementos em meu trabalho etnogrfico na UDV. O mximo que posso supor que tenha havido um certo influxo do CECP na forma da sesso. O M. Braga apontou o CECP como um lugar importante em seu percurso de buscador das coisas espirituais:
Busca espiritual mesmo, que eu senti a energia espiritual, eu senti dentro do esoterismo, do Crculo Esotrico da Comunho do Pensamento. Assim, antes de eu chegar no Vegetal, eu tive dentro de macumba, pra saber, em busca de conhecer alguma coisa estranha que o povo fala, que o povo diz. E eu, procurei assim, saber se de fato aquilo verdade mesmo, pra ter assim alguma convico. Por dentro da macumba eu no tive direito de receber nada daquilo que as pessoas diz que recebe, que se atua, que aquilo outro... Isso a foi um espao vazio pra mim. [...] a eu busquei isso a mais em outros batuques, mesmo em Porto Velho, no batuque de Santa Brbara.
Quando lhe perguntei se apenas ele, entre os mestres da origem havia sido scio do CECP, ele respondeu: Que eu sei, eu. Tem o M. Monteiro, da Maonaria, M. Bartolomeu depois, o M. Messias, que hoje t afastado da Unio, tambm foi pra l pra Maonaria. O M. Z Luiz na Rosacruz.. Alm destes, convm lembrar de Raimundo Pereira da Paixo, que iniciou na UDV em 18 de novembro de 1966, um dos mestres da origem que depois veio a ter significativa importncia nos incios da Unio do Vegetal em So Paulo. Ele era participante ativo do Terreiro de So Benedito em Porto Velho: Naquela poca eu freqentava macumba e ele [Jos Gabriel] se dava tanto com a dona do terreiro [Chica Macaxeira] e ela convidou ele para o batuque. Quanto Ordem Rosacruz, M. Jos Luiz de Oliveira comenta ao narrar seu primeiro encontro com Jos Gabriel da Costa: Eu vinha seguindo a Rosacruz h alguns anos,
74
inclusive j portava o ttulo de Mestre Rosacruz, por isso quando ele falou de evoluo espiritual , a Rosacruz tem todo um trabalho nesse sentido, me chamou a ateno atrs disso que eu ando.53 A sua vivncia no Rosacrucianismo no foi apenas no perodo anterior sua participao na UDV. Em entrevista a mim, M. Jos Luiz declarou:
Fiquei 27 anos na Ordem Rosacruz, dos quais uns 15 anos paralelos entre a Ordem Rosacruz e a Unio do Vegetal, sabendo que um dia eu ia ter que fazer uma opo. [...] O Mestre Gabriel nunca exigiu que eu tomasse nenhuma posio, fizesse uma opo, ou se eu quisesse seguir na Unio do Vegetal deixasse a Ordem Rosacruz. No. Ele nunca exigiu isso de mim. E isso pra mim foi muito bom. Eu entendi que ele achava que seguir a Deus uma opo. Porque Deus deu a ns o livre-arbtrio e a gente no toda hora que pode ter a opo. Chega o momento da opo. Quando voc chega na encruzilhada da sua vida, que voc tem na bifurcao das veredas da vida, que voc tem que tomar uma opo, voc vai pra esquerda ou vai pra direita ou vai em frente. Pra onde tiver o seguimento, e qual dos seguimentos, s vezes no s uma nem duas, tem mais, trs, quatro, cinco e voc vai ter que ter uma opo. Enquanto no chegou o momento da opo no adianta voc querer tomar a opo que ainda no o momento da opo. No pode precipitar as coisas. Quando chega o momento, voc sente. Se opo da prpria pessoa. No pode ser uma opo direcionada por quem quer que seja. [...] Ento, meu amigo, chegou o momento de minha vida em que eu tive de fazer a opo, mas pela minha livre e espontnea vontade.54
significativa a atitude de Mestre Gabriel, no impondo a Jos Luiz, nem mesmo aps este ser convocado por ele ao Quadro de Mestres, o seu afastamento da Ordem Rosacruz. Desse modo, o criador da UDV reafirma sua opo de estimular os discpulos para que eles mesmos examinem, decidam segundo a sua conscincia e exeram o seu livre-arbtrio. Em ltima anlise, essa atitude pode ser relacionada caracterstica da experincia com o ch Hoasca na Unio do Vegetal, de propiciar um englobamento de mltiplas vivncias espirituais e religiosas do indivduo, como veremos adiante. Alm disso, tal modo de agir certamente respondia aos anseios daqueles que chegavam na UDV com uma longa histria de busca, como o mesmo M. Jos Luiz conta, fazendo uma leitura ex post de suas experincias anteriores, luz de seu percurso esotrico posterior:
E assim eu me dediquei ao catolicismo at uma determinada idade, quando chegou o momento em que eu senti que no tava mais encontrando resposta pra algumas coisas
53
Entrevista de M. Jos Luiz de Oliveira. Por Edson Lodi, em dezembro de 1990. In: Memrias, Volume II, p. 3. 54 Entrevista de M. Jos Luiz de Oliveira. Rio de Janeiro, 25 de abril de 1999.
75
no catolicismo, porque devido a eu ser uma pessoa que naquela poca s tinha o primrio incompleto, no tinha tanto estudo assim, ento os padres naturalmente seguraram algumas coisas que eles no iam revelar pra quem no tava preparado, de acordo com as normas da Igreja Catlica, pra se aprofundar mais. Mas, como eu no via resposta, e eu sou um buscador das coisas divinas, tive de procurar outros meios. E a eu entrei pelo Crculo Esotrico da Comunho do Pensamento, freqentei o Crculo Esotrico da Comunho do Pensamento, entrei pelo Kardecismo, entrei pelo Rosacrucianismo, no Rosacruz da AMORC, sediado tambm na Assemblia de Deus.55 em Curitiba, tive na Igreja Presbiteriana, com o Pastor Bastos, tive tambm na Primeira Igreja Batista e tive
relevante observar a recorrncia de diversas experincias religiosas e esotricas nesses primeiros discpulos da UDV. Especialmente, naqueles que foram escolhidos por Jos Gabriel da Costa para integrar o primeiro Quadro de Mestres da UDV, os quais poderiam ser descritos segundo o perfil de um buscador das coisas divinas. Os primeiros discpulos eram, na maioria, moradores da cidade, o que lhes facultava a possibilidade de participarem dessa variada gama de atividades religiosas. O que Carlos Alberto Afonso afirma acerca dos incios do Santo Daime pode, guardadas as singularidades de cada fenmeno, ser aplicado UDV:
Na verdade, o Daime no surgiu numa periferia remota de ndios e caboclos, mas numa sociedade de fronteira internacionalizada pela economia da borracha e urbanizada pela cultura comercial e vrias hierarquias de deslocaes internas (seringueiros, militares, comerciantes, burocratas, polticos), o que inspirou a disseminao, em Rio Branco e noutras localidades, de casas modestas de candombl, umbanda e espiritismo kardecista, segundo o modelo do comrcio religioso das cidades do litoral. E, de fato, todas essas religies apresentam influncias importantes no Daime. O Acre era, em particular, o espao de fronteira e de trfegos inter-culturais entre a sociedade diasprica que se formava, no lado brasileiro, e o multiculturalismo tradicional da Amaznia, nomeadamente o xamanismo dos ayahuasqueros (AFONSO, art. indito 2, p. 10-11).
No mesmo lote da Rua Abun, no 1.215, em que residia Jos Gabriel da Costa, havia uma segunda casa, que tinha outro morador. Depois de alguns meses, este se mudou, e
55
Id.
76
ento Mestre Gabriel passou a distribuir o Vegetal nessa casa, no ano de 1966. Narra o M. Hilton: De incio no tnhamos sede organizada para realizar nossas sesses, tnhamos que
solicitar a vizinhos lugar em seus quintais a fim de realizar as nossas sesses semanais, visto que a residncia do Mestre era pequena e uma sala que dispunha, residia o mestre galego. Tivemos dessa forma, que pedir ao Sr. Macdonald em sua fazenda na Estrada dos Tanques 1 sala para a realizao de nossas sesses. Neste local ficamos 6 a 8 meses, ocasio em que o Mestre Galego seguiu para a Bolvia (Mamo), desse dia em diante passamos a ocupar a sala, a qual era forrada com palhas. Em atividade todos os irmos fizemos o piso com cimento, sendo encarregado da obra o Sr. Jos Luiz de Oliveira. Adquirimos tbuas e fizemos novas paredes de cujo servio encarregou-se o Sr. Antonio Cavalcante de Deus (Gia). Antonio de Deus ainda se encarregou da confeco de duas grandes mesas e bancos a serem colocados ao redor dessas, servindo ao grande nmero de irmos que chegavam em busca de tratamento pelo vegetal.56
A afluncia de pessoas procura do ch Hoasca para resolver seus problemas de sade, mencionada por M. Hilton, abordada por Afrnio Patrocnio de Andrade em sua dissertao de mestrado:
De repente o novo irrompeu ali, no meio da cidade. Duma hora para a outra, no meio de todo um xodo que interliga a floresta com a cidade, sai um seringueiro falando de Deus, explicando os mistrios profundos da existncia e, mais que isto, doutrinando centenas de pessoas, com uma casebre lotada (sic) de seguidores. [...] Em termos de Sade, oportuno lembrar que a regio como um todo era um prprio caos, situao que at os dias de hoje ainda no das melhores. [...] Foi exatamente nesta poca em que esse programa [o Servio Especial de Sade Pblica] estava entrando em decadncia que a Unio do Vegetal chegou na cidade. Ela encontra, ali, nada menos que uma populao que ansiosamente corria atrs de recursos mdicos. (ANDRADE, 1995, p. 184, 190-191).
O autor segue apresentando o relato de um mestre da origem que conheceu a Unio do Vegetal acompanhando uma pessoa doente que buscava a cura atravs do ch do Mestre Gabriel. Esse aspecto, de ser uma via alternativa para os que buscam sade num contexto de extrema carncia de recursos, certamente teve a sua importncia naqueles incios. No entanto, necessrio matizar as palavras do autor, que chega a falar de um
56
Depoimento de Hilton Pereira de Pinho, Id. p. 6.
77
seringueiro doutrinando centenas de pessoas em um casebre lotado. Tudo indica que no houve um movimento to espetacular quantitativamente, tendo sido bem modesto o nmero de seguidores da UDV, at o falecimento de Jos Gabriel da Costa. Uma estimativa plausvel seria supor que eram, em 1965, ano da chegada de Mestre Gabriel a Porto Velho, em torno de 16; em 196757, por ocasio da priso de Jos Gabriel da Costa, por volta de 50; e em 1971, ano do falecimento do fundador da UDV, uns 70 em Porto Velho, 30 em Manaus e mais alguns em Jaru e Jaci-Paran, totalizando menos de 150 participantes. Mas, voltando questo da sade, interessante indicar que, posteriormente, o CEBUDV procurou distanciar-se de qualquer prtica passvel de ser taxada como curandeirismo:
H grupos religiosos que apregoam as virtudes curativas do ch. A Unio do Vegetal, nesse particular, tem postura sbria. Sabe que a Deus nada impossvel, mas no pratica ou difunde aes curandeiristas. Usamos o ch, como j foi dito, como veculo de concentrao mental, para buscar o acesso a um estado de conscincia em que a compreenso dos fenmenos espirituais e metafsicos mais ntida. O que se busca, atravs dos ensinos e da doutrinao reta, a cura espiritual - isto , a evoluo. (CENTRO ESPRITA BENEFICENTE UNIO DO VEGETAL , 1989, p. 34)
Outro aspecto citado por M. Hilton, a precariedade e pobreza do local em que os discpulos bebiam o Vegetal, tambm lembrado por M. Paixo. Diz ele:
Era muito difcil, era periferia, tinha olarias perto da sede. A sede era pobre mesmo, coberta de palha, tapada, de tbua de refugo e de terra batida. Depois que fizeram o piso. [...] Na poca, l no tinha nenhum seringueiro, a pessoa que ainda veio em Porto Velho e ele chamou para beber o vegetal duas vezes foi o Chico Loureno. [...] Ento, o poder aquisitivo era uma situao delicada. Naquele tempo quem tinha mais poder aquisitivo era o Mestre Ramos, que era um forte comerciante, e dessas pessoas era s ele mesmo. Mestre Braga trabalhava na praa [era taxista], lutava com sacrifcio e outras pessoas tambm lutavam com sacrifcio. Quantas vezes o Mestre Ramos custeou as despesas para buscar o vegetal. Naquele tempo era pouco, nem era em grande quantidade. O irmo Modesto ia buscar o vegetal de trem num lugar chamado Pau Grande, na Estrada de Ferro Madeira-Mamor, era onde o Modesto ia buscar o vegetal. A gente preparava em lata de querosene, comprava aquelas latas de querosene, s vezes trazia, ou doava. Eu abria, batia com o martelo a beira da lata,
No artigo Convico do Mestre, publicado no jornal Alto Madeira, de 1967, fala-se de 198 discpulos que vm lhe acompanhando [o Mestre]. Porm, segundo M. Jos Luiz, esse nmero foi tirado do Livro de Adventcios, apontando ento para o conjunto dos que j haviam bebido o Vegetal e no para aqueles que ento permaneciam participando.
57
78
abria direitinho, enchia de jornal e tacava fogo para largar o gosto do querosene. Quantas vezes ns bebemos o vegetal com gosto de querosene ou de gasolina. Quantas vezes aconteceu isso. Ns tinha uma fornalha, na olaria botava tijolos, botava umas trempes, e ali botava duas latas em cima. Quando bebia o vegetal, cada um pegava um sebo de pau ou dois tijolos e se sentava. Tinha alguns que levavam rede e se sentavam para ficar perto do Mestre, mas no dava para ficar todo mundo ali, pegavam um pedao de pau e sentavam ali perto.58
No mesmo sentido, afirma M. Braga: Quando cheguei, no incio, as coisas eram como em todo incio; tinha pouca coisa, eu digo que tinha tudo porque tinha o Mestre Gabriel, mas em bens materiais e em organizao era bem pouco. Estvamos iniciando.59 A pobreza foi bem marcante nesses comeos. Assim como a carncia de instruo escolar formal da maioria, a comear do prprio Jos Gabriel da Costa, que freqentou poucos dias a escola quando criana e era apenas semi-alfabetizado. Por volta de 1970, D. Francisca e D. Josefa davam aula de alfabetizao no templo da UDV. Mas havia os intelectuais do grupo. Alm de M. Hilton Pereira Pinho, que havia sido presidente de sindicato, de M. Raimundo Monteiro de Souza, professor primrio, de M. Jos Luiz de Oliveira, que, segundo ele mesmo, j tinha sido secretrio, tesoureiro, membro de diversas entidades e diretorias, inclusive da Federao de Desportos de Guapor, havia tambm o M. Rubens. Segundo o M. Jos Luiz, o M. Rubens chegou na Unio assim meio intelectual. A profisso dele era dentista, mas estudava medicina na Faculdade de Goinia. Mestre Gabriel queria muito bem a ele [...]. Falava muito mais intelectualmente do que dentro dos mistrios das coisas da UDV. Em 1971, pouco antes do falecimento de Mestre Gabriel, o ento Conselheiro Rubens fez uma explanao na sesso inaugural do Ncleo de Manaus. Cito aqui um pequeno trecho, que bem exemplifica esse falar intelectual:
Muitas vezes se v no mundo moderno, tanto progresso, cheio de albores de uma civilizao extraordinria, o homem se deslocando pra Lua, o homem em busca de Marte, e essa tecnologia, e esse aperfeioamento, ser que isso est a servio realmente de algo til? Ns nos perguntamos muitas vezes. Ser que existe uma coeso fraterna entre os homens? Ser que todo este amparo da tecnologia e da cincia moderna est servindo para uma coeso, para um amparo, para uma sistemtica, para uma irmandade em si universal? L no Vietn se mata, l no Cambodja se mata, l no Laos se mata.
58 59
Entrevista de M. Raimundo Pereira da Paixo. Em Campinas, por Lcia Gentil, em 3 de junho de 1993. Entrevista de M. Raimundo Carneiro Braga. Por Edson Lodi, Ruy Fabiano e Joo Bosco, em junho de 1991. In: Memrias, Volume II, p. 79.
79
Por que que se mata? Por que que se mesquinho? Por que que se persegue? Por que que se vilipendia o ser humano? [...] Sem o amor, meus caros irmos, muito dificilmente a sociedade ser uma sistematizao, uma coeso [...] Por falta de amor que se mata, conforme eu disse agora.60
Este discurso, ainda que seja a fala daquele membro com maior formao acadmica, indica que o grupo dos primeiros anos da UDV no era formado por seringueiros recm-chegados da floresta, mas sim por indivduos urbanos, e que ao menos alguns deles tinham informao dos meios de comunicao acerca da poltica internacional e das transformaes do mundo moderno. A presena de pessoas letradas j suscitava uma indagao acerca do futuro, quando a UDV viesse a crescer. Ento, o prprio Mestre Gabriel, segundo M. Braga, dava uma orientao aos discpulos:
A recomendao a seguinte: quando a Unio do Vegetal chegar nas pessoas letradas, formadas, elas podem querer fazer modificao em funo do modo de ser delas, e que ns tivssemos muito cuidado quando o vegetal chegasse nos grandes centros. Ele dizia: Ns no podemos ir ao povo. No propriamente o vegetal, mas ns. E ainda, O povo que tem de vir a ns. Temos que falar assim, pela linguagem do caboclo, uma linguagem que desse para todos entender, o mais e o menos letrado. Essa foi uma das recomendaes que ele nos deu, que ns no fssemos ao povo, o povo viesse a ns. Se ns fssemos ao povo, ficvamos com o povo, mas se o povo viesse a ns, ficava conosco.61
Esse grupo de pessoas, que se constituam em sociedade ou irmandade, defrontou-se com os conflitos da sociedade brasileira de seu tempo e com as tenses prprias de um novo movimento religioso com as especificidades que possua a UDV. Primeiramente, o conflito poltico do Brasil na dcada de 60 e no incio dos anos 70. Mestre Gabriel chegara a Porto Velho em plena poca da ditadura militar. Um momento emblemtico de conflito foi a priso de Jos Gabriel da Costa em 6 de outubro de 1967. Esse momento relembrado em cada sesso de escala, na hora da leitura dos documentos da UDV, logo no incio da sesso, quando se l o artigo Convico do Mestre, publicado no jornal Alto Madeira, de Porto Velho, logo aps o incidente. Paradoxalmente, lembrar em todas as sesses de escala da priso do Mestre Gabriel cumpre um papel de sinalizar que o
60
61
Rubens Rodrigues, Explanao na sesso inaugural do ncleo de Manaus, 1971. In: Memrias, Volume I, p. 97.
Entrevista M. Raimundo Carneiro Braga. Loc. cit., p. 103.
80
uso do ch hoasca pela UDV plenamente legal, alm de propor ao discpulo da UDV que viva em sua prpria vida atitudes semelhantes do Mestre Gabriel, que disse:
Prestem ateno os que quiserem me acompanhar na misso: podemos ser censurados por todos, mas no podemos censurar a ningum; podemos ter inimigos, mas no podemos ser inimigos de ningum; podemos ser ofendidos por todos, mas no podemos ofender a ningum; podemos at ser julgados por todos, mas no podemos julgar a ningum; podemos ser revoltados por todos, mas no podemos revoltar e nem ser revoltados por ningum.62
M. Hilton narra do seguinte modo a priso:
No dia 06 de outubro de 1967, quando estvamos em sesso de escala na Unio do Vegetal, s 23 horas, entra a polcia comandada pelo chefe de polcia de guarda policial territorial Antonio Nogueira da Silva que convidou o mestre Gabriel a acompanh-lo Delegacia de Polcia da Capital para prestar depoimento esclarecimentos sobre aquele ajuntamento de pessoas, mestre Gabriel encerrou os trabalhos da sesso e seguiu no carro policial, eu entrei no carro e fui mandado a desocup-lo. Nesta sesso estavam presentes 38 discpulos dos 198 que vinham lhe acompanhando. Os discpulos do mestre Gabriel unidos seguiram em direo a central de polcia e l permaneceram at a manh. Procuramos as autoridades, inclusive o Sr. Simo Tavenad, que mesmo em sua residncia no foi encontrado. Dia seguinte, domingo eu bem cedinho dirigi-me a central de polcia onde encontrei o mestre Gabriel em uma sala especial. Em seguida fui convidado a conversar com o Sr. Rodolfo Menezes Ruiz, muito meu amigo pois o conhecia desde criana quando eu era professor no grupo Baro do Solimes ocasio em que este me diz: seu Hilton, o senhor metido nessas organizaes clandestinas? Em resposta lhe expliquei a finalidade da Unio seu amor a Deus e a natureza. Ento nos foi exigido um estatuto.63
O relato bem ilustrativo de como as autoridades policiais observavam como suspeito aquele ajuntamento de pessoas e logo tendiam a ver qualquer nova associao que se formasse como mais uma dentre as organizaes clandestinas. A partir dessa situao, surge a necessidade de se registrar um estatuto. E, ao que parece, j antes desse episdio alguns dos discpulos percebiam essa necessidade, como afirma M. Hilton em trecho anterior do mesmo depoimento: Meu desejo constante era que se registrasse a
62
Artigo Convico do Mestre. In: Jornal Alto Madeira, Porto Velho: 6 de outubro de 1967. Conforme consulta nos arquivos do Departamento de Memria e Documentao do CEBUDV. 63 Depoimento de Hilton Pereira de Pinho, Id. p. 6-7. Grifos meus.
81
Unio do Vegetal legalmente em cartrio local. Pois na poca (ps-64) qualquer organizao que no tivesse seus estatutos era interditada pela polcia.64 Ele, que havia sido presidente de sindicato, parecia estar consciente das dificuldades que a UDV poderia estar sujeita nesse tempo de represso. E o que se pode observar que a direo da Unio do Vegetal teve grande habilidade na obteno das condies de possibilidade para a sua continuidade. A atitude constante da UDV parece ter sido a de procurar as autoridades, buscando esclarec-las acerca das suas atividades, na convico de que no havia nada errado em suas prticas. Como nota M. Braga, acerca da atitude de Mestre Gabriel:
Quando o ch comeou a ficar mais conhecido, algumas autoridades pensavam que era um txico, que no era uma coisa boa. Mestre Gabriel sempre reagiu com firmeza, com a convico de quem sabia que estava fazendo um trabalho correto como ns sabemos que . Ele dizia sempre que era muito difcil as autoridades fecharem as portas da Unio do Vegetal porque ele no estava fazendo nada de errado. Sempre com firmeza e a convico de vencer, chegar no lugar das autoridades reconhecerem que ele no estava fazendo nada de errado.65
Assim, logo aps a libertao do Mestre Gabriel, que se deu no dia seguinte de sua priso, a UDV publicou uma nota de esclarecimento no jornal Alto Madeira - a Convico do Mestre - e M. Hilton e M. Jos Luiz elaboraram os primeiros estatutos civis da Associao. Em seguida, eles os apresentaram em cartrio local e em poucos dias o Meritssimo Juiz de Direito Dr. Joel de Moura assinava solenemente reconhecendo a Unio do Vegetal como entidade Jurdica em todo territrio Federal de Rondnia.66 agir da direo do CEBUDV. Um outro episdio, narrado por M. Paixo, tambm mostra a constante vigilncia exercida sobre o grupo naquela cidade de Porto Velho, em que havia uma considervel presena do Exrcito:
Um dia, quando Mestre Bartolomeu [que era militar] foi chamado pelo Comandante do exrcito, naquele tempo ele estava na ativa, porque haviam denunciado que ele freqentava uma seita que servia um ch que era uma droga, ele explicou: A sociedade que eu freqento, a Unio do Vegetal, serve um ch mas no o que esto
Esse
empenho em realizar tudo segundo a legalidade tem sido at aqui claramente observvel no
64 65
Id., p. 6. Entrevista M. Raimundo Carneiro Braga. Loc.cit., p. 89. 66 Depoimento de Hilton Pereira de Pinho, Id. p. 7.
82
dizendo e disse ao Comandante, se o senhor quiser conhecer, eu levo o senhor l. O Comandante quis conhecer.67
Depois desses fatos, houve novamente, em 1969, uma ao da polcia contra a UDV. Esta teve de permanecer, durante um perodo, sem receber novatos. M. Raimundo Monteiro de Souza na condio de presidente do CEBUDV, impetrou um mandado de segurana em 1970, atravs do advogado Jernimo Santana, que obteve sentena favorvel UDV. Posteriormente, esse advogado elegeu-se deputado federal e mais tarde foi o primeiro governador eleito do Estado de Rondnia, no perodo de 1986 a 1991. Acompanharam o processo no frum o discpulo Francisco Adamir de Lima e o Conselheiro Bartolomeu, que em seguida foram convocados por Mestre Gabriel para o Corpo do Conselho e para o Quadro de Mestres, respectivamente. O hoje M. Adamir conta que at novembro de 1970 existia a Unio do Vegetal e a Associao Beneficente Unio do Vegetal [entidade civil]. Quando quiseram fechar a Unio do Vegetal, fomos orientados para mudar o nome. Foi ento feita a juno e surgiu o Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal.68 Mas os conflitos no se deram unicamente com o aparelho do Estado. Tambm houve uma situao conflituosa com a instituio religiosa predominante em Porto Velho na poca, a Igreja Catlica. Primeiramente, observemos a narrativa e as dedues de Afrnio Patrocnio de Andrade, a partir da entrevista que fez com o bispo de Porto Velho, atualmente j falecido, D. Joo Batista Costa, que exerceu o governo da Prelazia de Porto Velho de 1946 a 1982:
As autoridades eclesisticas tambm chegaram a ser consultadas, mas afinal de contas, o que elas teriam contra um adepto da sempre virgem Maria Santssima e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Nesta poca, era bispo da cidade o hoje jubilado Dom Joo, que tivemos oportunidade de entrevistar, em maro de 1992. Ele nos informou que, quando o mestre Gabriel chegou na cidade com o ch, ele j era proco ali h 35 anos, dos quais, uma dcada como bispo. Segundo ele, alguns dos catlicos, gente de f, procuraram por ele, para saber sua opinio sobre o referido ch. Teria ele interrogado queles fiis sobre o que eles viam durante o estado de xtase. Responderam a ele que viam coisas ruins e coisas
67
Entrevista M. Raimundo Pereira da Paixo. Em So Paulo, por Edson Lodi, em junho de 1989. In: Memrias, Volume II, p. 121. 68 Mestre Adamir, um pioneiro do Vegetal. Jornal Alto Falante, Braslia,Sede Geral, nov-dez 1990. p. 4-6.
83
boas e muito bonitas. Diante disto, teria ele instrudo os fiis a seguirem o conselho do apstolo Paulo, examinar todas as coisas e reter o que bom. Em seguida, designou um de seus assessores episcopais, o j falecido Padre Carlos, para dialogar com o mestre Gabriel a respeito do assunto. Infelizmente o resultado de tal dilogo no nos foi acessvel, pois, segundo alguns dos adeptos da Unio do Vegetal, houve um desentendimento entre o mestre Gabriel e o Bispo, o que no confirmado por este ltimo. A prova de tal desentendimento um artigo publicado num dos jornais da cidade e mantido por essa, intitulado Velando enquanto dorme. Uma leitura do texto no indica propriamente uma controvrsia. Procurado para nos dar mais informaes sobre o seu contexto, o autor do texto no se lembrou absolutamente nada a respeito. Por outro lado, o referido padre, designado para tal dilogo, faleceu no decurso do processo. Segundo o bispo, possvel que existam anotaes dele na Igreja em que era proco, em Porto Velho, o que ainda no confirmamos. Diante disto, nossa ponderao ainda continua sendo a de que, embora desconhecesse o assunto, a Igreja Catlica no chegou a se posicionar objetivamente sobre ele. (ANDRADE, 1985, p. 185).
No entanto, outras narrativas indicam que a situao foi mais conflituosa: as entrevistas dos Mestres Braga e Jos Luiz de Oliveira, respectivamente ao Jornal Alto
Falante e a mim. As declaraes do bispo a Patrocnio de Andrade vo na direo de uma
diluio do conflito. A aplicao pelo bispo do conselho paulino de examinar todas as coisas e reter o que bom, quando da pergunta de gente de f sobre sua opinio acerca do ch, parece expresso de uma mentalidade extremamente aberta. Porm, as lembranas dos mestres da origem apontam para uma situao diversa. Conta o M. Braga:
que uma pessoa foi casa do bispo e transmitiu informaes que no eram verdadeiras sobre a Unio do Vegetal. Essa pessoa no conhecia a Unio, por isso deu aquelas informaes. A, o bispo num sermo da igreja falou da Unio do Vegetal da mesma maneira; maltratou a Unio, disse um bocado de coisas. Quando eu soube, pedi ao Mestre Gabriel para conversar com o bispo e o Mestre Gabriel me autorizou. E eu fui. Expliquei pro bispo o que era o vegetal e o que era que aquele senhor, que era o Mestre Gabriel estava fazendo pelas pessoas. Depois contei toda a histria sobre o pensamento da Unio do Vegetal. Depois que contei toda a histria sobre o pensamento da Unio do Vegetal, o bispo disse o seguinte: Se a Unio do Vegetal e o ch esto produzindo esse efeito, e se esse senhor est fazendo esse trabalho, o senhor pode continuar bebendo. A, pedi para ele autorizar um padre que era muito meu amigo a beber o vegetal. Ele me pediu que eu no fizesse isso; pra mim mesmo, ele
84
disse que eu continuasse, mas pro padre no. [...] Acho que foi a primeira vez que uma autoridade, pesando mais as palavras, se manifestou favoravelmente.69
Assim, segundo a narrativa de M. Braga, corroborada pelas declaraes de M. Jos Luiz, o prprio D. Joo Batista Costa teria feito pesadas crticas Unio do Vegetal em um sermo (ou mais de um) na igreja. Isto, a partir de informaes de uma pessoa que no conhecia a Unio. A resposta da Unio do Vegetal foi atravs da publicao em jornal de um artigo, denominado Velando enquanto dorme, onde se l:
Disse um Reverendo, em seu sermo de domingo dia 11-7-71: Na Unio do Vegetal se v de tudo. E verdade, pois a primeira coisa que vi, quando comecei a freqentar a Unio do Vegetal, foi o caminho em que eu vivia, no erro. E hoje, pela minha firmeza em Jesus Cristo e sua bondosa me Maria Santssima, vejo o caminho limpo e firme [...].70
Esse caminho limpo e firme o argumento de defesa da Unio do Vegetal apresentado no artigo: Afirmo que a Unio do Vegetal pratica e ensina exatamente o amor a Deus sobre tudo, extensivo aos seus semelhantes. Mais adiante, o texto chega a especificar traos caractersticos da prtica dos discpulos da Unio: estar isentos de freqentar
bares, casas de jogos, mesmo sinuca ou bilhar, baixo meretrcio e outros lugares que porventura existam e que sejam perniciosos formao moral do homem diante do prprio homem e muito mais diante daquele que se chama Esprito Santo, que compe a Trindade Divina.71
Essa afirmao de uma regenerao dos novos participantes, alguns conhecidos como farristas em Porto Velho, era freqentemente trazida como resposta queles que questionavam acerca dos efeitos do ch Hoasca para a pessoa. Alm da publicao do artigo, tanto M. Braga quanto M. Jos Luiz foram falar com o bispo, de quem eram amigos. D. Joo no se deu por convencido acerca do valor religioso positivo do ch, mas ao menos parou de criticar a UDV em seus sermes. De qualquer modo, as narrativas dos mestres da
69
70
Entrevista de M. Raimundo Carneiro Braga. Loc. cit., p. 93.
Velando enquanto dorme. In: Jornal Alto Madeira. Porto Velho: julho de 1971. Conforme consulta nos arquivos do Departamento de Memria e Documentao do CEBUDV. 71 Id.
85
UDV indicam que houve uma significativa mudana no posicionamento depois que os discpulos da UDV o procuraram para conversar.
Ultrapassando situaes conflituosas com a polcia, com o exrcito, com o Poder Judicirio, com a Igreja Catlica, os primeiros discpulos da Unio do Vegetal souberam encaminhar bem as resolues desses conflitos. E, como narra M. Braga, ainda conseguiram obter recursos junto ao Poder Pblico para solidificar a obra comeada:
No incio, a gente usava uma casinha que no era propriamente a casa do Mestre Gabriel, era uma casinha pegada dele. O ambiente fsico no era to agradvel, mas fomos nos organizando, crescendo e aumentando a casa. Com o tempo, foi enchendo de pessoas. Certa vez ele disse que era bom que a gente encontrasse um lugar onde pudesse construir nossa sede. Naquele tempo, a gente falava em sede, depois passamos a falar em templo, porque sede ficou sendo a casa do Mestre, porque ele nos cedia. Um dia a gente se disps a ir Prefeitura; fomos eu e o Mestre Ramos, e a Prefeitura doou um terreno de 100 metros por 100 metros. A comeamos a construo do templo, com Mestre Gabriel ainda em matria, mais ou menos em 69, e chegamos a concluir a obra.72
Desse modo, com grande habilidade, mesmo em meio a um contexto poltico extremamente desfavorvel ao surgimento de uma instituio que faz uso ritual de uma substncia psicoativa, gradualmente conseguiram, do mesmo modo como construram um templo, plantar os alicerces do CEBUDV na cidade.
72
Id., p. 89.
86
2.3. A PRESENA DA UDV EM SO PAULO A PARTIR DOS ANOS 70
... estamos construindo um templo... Carto comemorativo dos sete anos do Ncleo Alto das Cordilheiras, 1999
Em 1971, ainda em vida de Mestre Gabriel, a Unio do Vegetal iniciou a sua expanso para alm de Porto Velho, com a criao do ncleo de Manaus, posteriormente denominado Ncleo Caupuri73. No ano seguinte, j aps o falecimento de Jos Gabriel da Costa, a Unio do Vegetal chegou a So Paulo. A partir da entrevista da conselheira Ins74 e de um artigo publicado75 em 1972 no jornal Alto Falante, rgo oficial do CEBUDV, dirigido aos scios do Centro, buscarei delinear esses primeiros passos da Unio do Vegetal no Estado de So Paulo, a partir dos quais se fundou o Ncleo Samama. Em seguida, descreverei os comeos da UDV em Campinas, a formao do Ncleo Lupunamanta, e a posterior constituio do Ncleo Alto das Cordilheiras. Deste modo, apresentarei um aspecto da expanso da Unio do Vegetal no Estado de So Paulo, a partir do ramo do qual surgiu o ncleo em que fiz o trabalho de campo desta dissertao. O artigo do Alto Falante transcreve os depoimentos de duas conselheiras que participaram dos incios do Ncleo Samama, o primeiro a se formar no Sudeste. Elas so Ivone de Castro Meno76, que iniciou na UDV em 1972, e Else Anglica Piacentini Medeiros, que comeou a participar no ano seguinte. Segundo Ivone, em maio de 1972, ela e seu companheiro Nielson Meno beberam pela primeira vez o Vegetal em Manaus, convidados por um mestre da UDV que participava com eles de um grupo que trabalhava na rea de msica, cinema e teatro. O mestre lhes chamou para conhecerem um ch que nos fazia ver coisas bonitas [...] e que era tambm uma viagem para dentro de ns mesmos. Para Ivone, a primeira experincia trouxe uma alegria muito grande, a alegria de ter reencontrado minha casa, que parecia que h anos eu procurava. significativo que os dois aspectos apontados pelo convite se refiram fruio esttica (um ch que nos fazia
Caupuri o nome de uma das duas variedades principais de cip mariri. H o mariri tucunac, mais presente na regio prxima a Porto Velho e o mariri caupuri, que nativo da regio circunvizinha de Manaus. 74 Entrevista de Ins, Campinas, 6 de novembro de 1998. 75 Samama, os 20 anos do segundo Ncleo da UDV. Jornal Alto Falante. Braslia: dez 1992 -jan 1993, p. 6-9. 76 Neste captulo, mantive os verdadeiros nomes de participantes do Ncleo Samama, ou dos mestres da origem, j que tais nomes foram publicados no jornal Alto Falante. Os pseudnimos continuaro sendo grafados em itlico.
73
87
ver coisas bonitas) e ao auto-conhecimento (uma viagem para dentro de ns mesmos). A partir dessas duas motivaes pode-se refletir a respeito dos participantes que estavam chegando UDV. Ao que tudo indica, entre os primeiros participantes paulistas77 predominava uma sensibilidade e uma viso de mundo contra-cultural, naqueles incios dos anos 70 em que o
flower power ainda repercutia fortemente no Brasil. So pessoas das camadas mdias
urbanas, muitas das quais haviam participado dos movimentos da contra-cultura, usurios de drogas, que haviam optado por estar na contra-mo da sociedade, empenhados num estilo de vida alternativo. So esses que levaram s sesses da Unio msicas como as de Z Geraldo ou de Raul Seixas (ARARIPE, jun 1981, p. 38-39). A busca de uma expanso da conscincia atravs de substncias como o LSD teve um papel relevante para muitos desses indivduos, procura de novas vivncias estticas e novas abordagens da prpria psique que lhes propiciassem uma ampliao de seu auto-conhecimento. Em julho de 1972, Ivone e Nielson se mudaram para So Paulo, levando um litro de Vegetal que o Mestre Representante do Ncleo de Manaus lhes havia entregue. Na semana seguinte, eles j fizeram a primeira sesso em So Paulo. Ainda no mesmo ano, Marinho Piacentini, um paulista que tambm trabalhava com teatro, irmo de Else Anglica, bebeu pela primeira vez o ch em Manaus. E quando voltou para So Paulo, integrou-se ao primeiro grupo. Logo eles passaram a beber o Vegetal num stio em Cotia, de propriedade do pai de Marinho, o Sr. Mrio Piacentini, que iniciou na UDV no mesmo ano de 1972 e hoje mestre. Nas primeiras sesses, dirigidas por Nielson, ele ainda no sabia as chamadas, ento bebiam o ch segundo o horrio de Manaus, procuravam se concentrar e permaneciam em silncio durante boa parte da sesso. Segundo Else, as pessoas se sentavam ao redor de uma mesa e uns poucos ocupavam algumas cadeiras laterais. Em setembro de 1972 foi realizada a primeira reunio administrativa, com a presena de um dos mestres da origem da UDV, Hilton Pereira Pinho, que escolheu para o ncleo o nome de Samama. Com as visitas de Mestre Hilton, o grupo deu os primeiros passos na recepo da tradio da UDV: a maneira de dirigir as sesses, o primeiro preparo
Aqui no me refiro especificamente queles citados nominalmente acima, mas sim ao conjunto mais amplo dos participantes paulistas dos primeiros tempos.
77
88
de Vegetal, a primeira sesso de adventcios78. No incio de 1974, Nielson e Marinho receberam a estrela de mestre79. Alm de Hilton, muitos dos mestres da origem visitaram o Samama. Mais de doze foram nomeados por Ivone, Else e Ins. Segundo esta, o Samama comeou com o tempero de todos. Os principais mestres que estruturaram a Unio do Vegetal aps o falecimento de Mestre Gabriel, inclusive sua esposa, Mestre Pequenina, iam a So Paulo, a convite dos discpulos do Samama, que lhes pagavam as passagens areas, para comunicar aos novatos paulistas suas recordaes acerca da vida do fundador, seus ensinos, suas chamadas. Esses foram os primeiros encontros dos indivduos da classe mdia paulista, a maioria dos quais ligados s artes, especialmente o teatro, com os caboclos de Porto Velho e Manaus, herdeiros da obra recm-criada por Jos Gabriel da Costa. Pelo relato de Ins, possvel perceber a habilidade de alguns dos mestres da origem em conduzir aquele grupo de jovens artistas urbanos para a constituio de uma entidade religiosa que valoriza especialmente a ordem e a obedincia. Mas os conflitos no tardaram a surgir. Assim, em novembro de 1976, o Ncleo Samama foi suspenso pela Sede Geral. Segundo Else Anglica, essa suspenso foi motivada por vrios fatores, de ordem disciplinar. Ela continua, afirmando que durante esse perodo muita conversa foi levada de So Paulo a Porto Velho e trazida de Porto Velho para So Paulo, de maneira deturpada, aumentada. O que me foi possvel saber que algumas pessoas tiveram comportamentos inadequados, especialmente misturar a participao na UDV com a adeso ao movimento de Rajneesh. Hoje parece algo bem previsvel a incidncia de sanes disciplinares por parte da direo da UDV em Porto Velho sobre aqueles novos participantes paulistas que pela sua origem de classe e insero profissional eram to diferentes do tipo de participante que predominava na UDV em seus incios no Norte do pas. Mas antes dessa suspenso, beberam o Vegetal em abril de 1976, pela primeira vez,
Ins e Daniel, atualmente no Quadro de Mestres do Ncleo Alto das Cordilheiras. Eles
participaram de uma sesso de adventcios no Samama. Daniel, ento com 37 anos, de
Sesso de adventcios uma sesso especial feita com o objetivo de receber pessoas que vo beber pela primeira vez o Vegetal. 79 O uniforme do mestre na UDV composto de camisa com uma estrela bordada na altura do peito, assim, receber a estrela ser designado para o lugar de mestre, e perder a estrela ser destitudo dessa funo.
78
89
famlia tradicional de Campinas, descendente de bares do caf, tinha sido no passado bastante influenciado pela contra-cultura:
Ento entrei no Mackenzie, sa de casa, a com uns 20 anos comecei a fumar maconha... A, tal, fui trabalhar em teatro, tinha ido em dois festivais nacionais de teatro, conheci a turma do teatro, vivia no bar, toda noite ia no bar, repetia ano; da virei comunista e da o Partido Comunista perdeu, pra quem era do Partido foi um choque, no Mackenzie tinha Comando de Caa aos Comunistas. [...] At que me formei. A tambm comeou, trabalhava, continuava meio hippie noite, no dava certo, ia dormir 3 h da manh, levantava 6 h, trabalhava na Shell, casei e da foi. Mudei, fiquei meio teosofista, fui, passei uns tempos em So Tom das Letras, tambm aprontei por l [...]. Nessa poca eu cheguei a ser internado duas vezes no sanatrio por droga. Mas droga era maconha e cido lisrgico, as outras eu no tomava. E cerveja toda noite. [...] Quem me integrou a cabea foi o Pietro Ubaldi, atravs do monismo.
80
Daniel e Ins beberam o ch e logo continuaram a freqentar as sesses do
Samama. No ano seguinte, 1977, Joaquim de Andrade Neto recebe da UDV licena para beber o Vegetal com algumas pessoas de sua famlia em Campinas. Juntam-se a eles Daniel e Ins. Mas eles logo tm de voltar ao Samama em So Paulo, porque no mesmo ano Joaquim suspenso e afastado da comunho do Vegetal81. Assim, Ins e Daniel permanecem participando do Samama at 1980. Continuando a descrio da trajetria do Ncleo Samama, como j afirmei acima, em novembro de 1976 a distribuio de Vegetal no ncleo foi suspensa. No ano seguinte, um outro discpulo paulista, Hlio Rodrigues Ferreira, foi a Porto Velho e voltou com uma quantidade de ch e a autorizao para distribu-lo queles que desejassem continuar na UDV. No entanto, em 1978, tambm o Hlio foi punido, como disse a Conselheira Ins. A a responsabilidade pela distribuio foi passada ao ento Conselheiro Mrio Piacentini,
Entrevista de Daniel, em Campinas, 2 de outubro de 1998. Pouco depois, Joaquim de Andrade Neto comea a distribuir o Vegetal por conta prpria e em 1981 funda uma dissidncia da UDV, o Centro Espiritual Beneficente Unio do Vegetal, com sede em Campinas. Esta entidade, que conta com apenas um ncleo, em Campinas, e uma fazenda com plantao de mariri e chacrona no Mato-Grosso, tem ocupado significativo espao na mdia e se apresenta como a Unio do Vegetal. No entanto, no momento de seu desligamento do Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal (CEBUDV), Andrade Neto no era mestre ou conselheiro, nem ao menos havia recebido os ensinamentos do Corpo Instrutivo. Assim, a doutrina exposta nos livros de sua entidade distingue-se sobremaneira dos ensinamentos de Jos Gabriel da Costa tal como o CEBUDV os transmite. O CEBUDV tem reagido com a instaurao de um processo contra a entidade dirigida por Joaquim de Andrade Neto, por uso indevido da expresso Unio do Vegetal, registrada no INPI. Vide no anexo 1 a lista das dissidncias do CEBUDV de que pude ter notcia.
81
80
90
o proprietrio do stio de Cotia no qual eram realizadas as sesses. Na poca j com uma certa idade, Mrio tinha sido pastor protestante. Assim, depois de ter sido iniciado por pessoas ligadas ao teatro, meio hippies, o Ncleo Samama passa a ser dirigido por um ex-pastor, o que talvez seja emblemtico de um certo esforo por parte da direo da UDV de se organizar no Sudeste segundo um perfil que se distiguisse daquele oferecido pela contra-cultura. Foi de Mrio Piacentini a iniciativa de convidar um dos mestres da origem, o Mestre Paixo, a se mudar para So Paulo, o que aconteceu em julho de 1978. O tempo durante o qual Paixo ficou como Mestre Representante do Samama se estendeu por alguns anos, e foi a fase de consolidao do ncleo, com a doao de um terreno de um hectare em So Roque, em 1979, por parte de Mestre Mrio e Else Anglica; a construo do templo definitivo em 1981 e sua concluso no ano seguinte. O grupo de Campinas foi se organizando e em 11 de outubro de 1980 aconteceu a primeira sesso no ncleo de Campinas, desde ento denominado de Ncleo Lupunamanta82. Daniel recebeu em 1981 a estrela de mestre, mas veio um outro mestre da UDV morar na cidade, um militar, e foi este o designado como Mestre Representante. Porm, depois de um ano e meio, esse militar se mudou de Campinas e Daniel assumiu o cargo de Mestre Representante, no qual permaneceu por cinco anos. Em seguida, M. Ney recebeu a Representao do Ncleo Lupunamanta. Ele estava no lugar de Mestre Representante quando comearam a planejar a abertura de uma nova Distribuio.
Letcia, do CI do Ncleo Alto das Cordilheiras, doutoranda em Educao na
Unicamp, na faixa dos 40 anos de idade, passou-me um relato com alguns dados histricos do ncleo, escrito por ela, que acompanhou o processo de formao do Alto das Cordilheiras desde os seus incios:
Lembro-me que em outubro de 1991, em uma Sesso Instrutiva no Ncleo Lupunamanta, foi comunicada Irmandade a necessidade de abrir uma Distribuio, dado o aumento do nmero de scios do ncleo. Era Representante do Lupunamanta, naquele perodo, o M. Ney. O mestre designado para ser responsvel pela Distribuio foi o M. Paulo, e para auxili-lo nessa empreitada, o M. Otvio aceitou a incumbncia
82
Lupunamanta o nome dado pela UDV Estrela Matutina, e h uma Chamada de Lupanamanta.
91
de acompanh-lo. Assim, a 27 de maro de 1992, a Distribuio foi iniciada com 33 scios, originrios do Ncleo Lupunamanta. As atividades foram iniciadas, provisoriamente, na sede antiga do Ncleo Lupunamanta, onde hoje a Unidade Beneficente Estrela da Manh.83
Quando iniciou o processo de segmentao para a formao de uma nova unidade, o Ncleo Lupunamanta j dispunha de confortveis instalaes: um extenso terreno e um amplo templo. A maioria dos 33 scios que se apresentaram para iniciar a Distribuio j bebiam o Vegetal h muitos anos e tinham trabalhado ativamente na construo do Lupunamanta. Desses 33 que comearam a Distribuio, apenas 3 no esto hoje associados ao Ncleo Alto das Cordilheiras. Naquele ano de 1992, eles permaneceram um tempo realizando as sesses no antigo Salo do Vegetal do Ncleo Lupunamanta, que se localiza em frente ao templo novo. Foi nesse local que eu participei pela primeira vez de uma sesso do CEBUDV, em julho de 1992, bem nos incios da Distribuio84. Em maio do mesmo ano havia sido adquirido um terreno na zona rural do Distrito de Joaquim Egdio, Campinas. Imediatamente comeado o plantio de mariri e se constri o salo, que inaugurado no dia 5 de junho de 1993.
Letcia continua sua narrativa:
A 4 de dezembro de 1993, a Distribuio elevada a Pr-Ncleo, tendo sido escolhido o nome de Alto das Cordilheiras. A seguir foi construda a Casa de Preparo provisria, a Casa de Ferramentas e Almoxarifado, e a Casa do Caseiro. O plantio foi melhorado e construdo um canteiro para Chacrona, com capacidade para 220 ps. Nesse momento para Representante do Pr-Ncleo foi designado o M. Paulo, pelo Mestre Central da 9 Regio. A 1 de outubro de 1994, assume a Representao do PrNcleo o M. Otvio. Havia ento 55 scios, sendo 4 mestres. A 13 de setembro de 1996, o Pr-Ncleo Alto das Cordilheiras elevado a Ncleo Alto das Cordilheiras. A seguir, designado, para Representante do Ncleo, o M. Spencer de Morais Pupo Nogueira, que assume a Representao em 6 de janeiro de 1997. Eram, naquele momento, 57 scios.
Com a concluso dessa narrativa, aproximamo-nos do tempo do trabalho de campo e do tempo presente. Desde as histrias a respeito de Mestre Gabriel e a criao da Unio
Depoimento escrito de Letcia: Alguns Dados Histricos do Ncleo Alto das Cordilheiras. A Distribuio no tinha um nome prprio. Segundo o modo de proceder do CEBUDV, somente quando chega a Pr-Ncleo a unidade recebe um nome, que permanece quando elevada a Ncleo.
84 83
92
do Vegetal no seringal, at aqui, passando pelas recordaes dos mestres da origem acerca dos rduos incios em Porto Velho, acompanhamos o movimento da Estrela do Norte, iluminando at o sul. Busquemos agora observar como a claridade dessa Estrela experienciada pelos discpulos do sul.
93
3. A ESTRELA ILUMINANDO
3.1. ALGUMAS HISTRIAS DE VIDA
Um homem na campina olhava o cu. As estrelas pareciam aumentadas, de tamanho brilho. Estrela, estrela, estrelas, Ele suplicou como se injuriasse. [...] homem, filho meu, convoca-me a voz do amor, at que eu responda Deus, Pai. Adlia Prado, Genesaco, In: O Pelicano
No trabalho de campo, fiz cinqenta entrevistas, coletando as histrias de vida dos
participantes do Ncleo Alto das Cordilheiras. Aqui escolhi trechos de algumas narrativas, para que pudssemos entrar em contato com o discurso desses sujeitos, e assim, observar, entre outros aspectos, como eles constrem a trajetria de suas vidas sob o ngulo do encontro com a Unio do Vegetal, como eles expressam as motivaes iniciais e atuais para a sua participao e como esta tem repercutido ou no em seu quotidiano. Deste modo poder-se- chegar a uma primeira aproximao da experincia simblica dos discpulos da UDV. Inicio com a trajetria de Rubem, um dos membros do ncleo que tem menos tempo de participao na UDV, somente dois anos e meio, na ocasio da entrevista. Assim, em comparao media de tempo na UDV das pessoas do ncleo, Rubem est ainda entrando por aquela que ele chamou de porta que se abre para os mistrios.
Rubem: entrando por uma porta que se abre para os mistrios Rubem tem 43 anos de idade. Sua famlia de origem judaica. Ele fez sua
graduao em cincias sociais e em histria. Fez o mestrado e o doutorado na rea de educao. Seu pai era imigrante judeu, proveniente da Europa Oriental, apesar de agnstico, tinha conhecimento muito profundo de religio judaica, das questes ticas, do
94
Talmud, da Mishn85. Assim, Rubem foi educado para uma atitude de procura do conhecimento no estudo, de culto ao saber. No que toca religio, ele narra:
tive uma formao escolar judaica, mas eu nunca me sentia muito vontade com a religiosidade, pois em casa, como no havia um culto religioso, em termos de credo, era uma situao um pouco paradoxal. Ao mesmo tempo que havia um valor dado pelo conhecimento da religio, no havia essa f. [...] Achava interessante a religio, fazia um esforo, mas no conseguia entrar naquele mistrio.
Essa inacessibilidade da vivncia religiosa foi, segundo ele, compensada por um itinerrio intelectual, primeiramente com a graduao em cincias sociais e em histria, caminho pelo qual ele buscava uma resposta s perguntas filosficas a respeito de quem somos, onde estamos, pra que viemos, pra onde vamos. Ele tambm posicionou-se em oposio ditadura, numa militncia poltica de matriz marxista, gravitando ao redor de alguns grupos de esquerda, mas no chegando a integrar nenhum deles, j que, como ele diz, tinha uma atitude de no me enquadrar. Esse no-enquadramento j se apresentava desde os tempos de colgio:
Vem de minha formao juvenil essa coisa mais alternativa, continuava na faculdade sendo porra-louca e bom aluno. Segundo o padro de loucura da poca, com viradas de madrugadas, comportamento que poca a gente julgava que era de resistncia poltica, naquele padro de loucura que poca era tolervel por conta das condies sociais e polticas do pas, e que a gente aproveitava mesmo: era muita droga, era sexo, era esbrnia, era conspirao, era movimento estudantil... mas uma coisa que eu preservava era ser bom aluno, coisa que nem todos faziam. Porque, no fundo, talvez eu sempre fui muito pequeno burgus, a minha tica sempre foi muito pequeno burguesa. Eu me identificava mais com o estudo mesmo.
Em meio a essas vivncias no mbito da contra-cultura, Rubem teve algumas experincias com drogas que tocavam a franja do sagrado: Tive outras experincias no diria msticas, mas quase religiosas, mas muito ligadas ao uso de drogas, mesmo. Vi umas coisas meio animistas, meio xamnicas mesmo. No Bosque dos Jequitibs, tem uma figueira muito bonita, enorme, frondosa, que ela parecia s vezes para mim que ela tinha uma vida, uma coisa meio de existncia espiritual mesmo. Eu tinha uma sensibilidade
85
Entrevista de Rubem, em Campinas, 28 de setembro de 1998. As citaes seguintes, neste item, so da mesma entrevista.
95
talvez induzida a isso, cogumelos tambm... Coisas que do uma certa sensibilidade pra se entrar em contato com outras dimenses que a gente talvez no saiba como utilizar pra si, ainda. Posteriormente, no que toca vertente do pensamento, Rubem dirigiu-se do marxismo para o weberianismo:
Durante uma poca li muito Weber e hoje ainda, metodologicamente, em termos de organizao do pensamento, eu sou muito prximo a Weber. Ento me aproximei da idia das vrias ticas relacionadas com a cultura, passei a ser mais culturalista. A fui fazer ps-graduao em educao, como um meio de mudar o mundo, de transformar o mundo de acordo com aquela ambio que eu tinha de trazer um certo rigor, aperfeioamento da humanidade, de acordo com aquela viso que vinha talvez de infncia mesmo, viso literria, cultural, que se inspirava muito em certos modelos de rigor tico. [...] O que me aproximou da rea de educao foi bem um certo ideal de mudar o mundo atravs do sistema educacional como uma porta pras alteraes do mundo.
interessante observar como esses tpicos, aparentemente dspares, so costurados numa narrativa a um pesquisador que estuda a Unio do Vegetal. E esses fios, da busca de uma experincia religiosa sentida como inacessvel, de uma vivncia alternativa, de percepes anmico-xamnicas e de um rigor tico comprometido com um ideal de transformao do mundo, so certamente retranados na nova fase da vida de Rubem, como discpulo da Unio do Vegetal. Perguntado a respeito do que a burracheira, ele responde sinteticamente que uma porta que se abre pros mistrios. O tema da porta, tantas vezes presente na simbologia da UDV, nas suas chamadas, assim como presente no discurso de
Rubem, quando ele acima se referiu educao como uma porta pras alteraes do
mundo, reaparece aqui, na medida em que a experincia com a Hoasca compreendida como porta para alteraes no seu mundo interior, possibilitando um contato com o sagrado que at ento eu no tinha tido. A UDV surge na vida de Rubem em um momento em que ele havia vivido situaes que o abalaram: seu primeiro filho no sobreviveu, trs anos depois seu pai faleceu de derrame fulminante, no final de uma conferncia que proferiu no Clube Hebraica. Depois nasceu o seu segundo filho e ele se perguntava sobre como falar de Deus ao menino.
96
Segundo Rubem, desde o nascimento desse filho desperto para a aceitao da existncia de algo alm do mundo lgico cartesiano. Aps a defesa de sua tese de doutorado, Rubem decide acompanhar a esposa, que pouco tempo antes comeara a freqentar a UDV. Assim, tem a sua primeira burracheira em 1996, da qual ele conta:
A primeira burracheira a gente nunca esquece... Foi algo inesperado, nunca tinha tido essa sensao de harmonizao, de um caminho de harmonia, perceber que possvel acertar as contas consigo, com as coisas do passado. Tanto que eu perguntei na sesso o que o passado, se o passado continua existindo... Vinha de um raciocnio a respeito do lugar do passado e do futuro. A luz de uma estrela, depois que ela emitida, se torna atemporal, porque ela vai se expandir por todo o espao que existe, mesmo depois que a estrela que a emitiu tenha se extinguido. Ento, o que a gente observa, quando olha o cu, seria um passado de algo que no existe mais, mas que vai existir eternamente ao mesmo tempo - um aparente paradoxo. [...] E tambm eu consegui a partir dessa primeira sesso, foi um momento assim bem forte de chegar a uma conciliao com o meu pai, passar a tolerar, a suportar melhor a ausncia dele, que at ento era algo que eu ainda no havia trabalhado... assim como do nosso filho, ainda no havia me conformado, estava pendente por anos, fazia quase cinco anos que meu pai havia morrido, e eu ainda estava remoendo. Foi muito bom porque pela primeira vez eu consegui entrar em contato com ele e fazer uns acertos que tava precisando. Nas quatro primeiras sesses eu consegui ficar numa plena tranqilidade, plena luz com ele. Mas, era bem ele mesmo, da forma como ele era em vida, presena material. Foi uma coisa bem boa, logo as primeiras sesses nesse sentido.
Rubem passa a freqentar a UDV, sua esposa associa-se primeiro e, seis meses aps
aquela primeira sesso, ele se associa. Pouco mais de um ano depois ele convocado para o Corpo Instrutivo. Na semana da entrevista ele havia tido a sua primeira Sesso Instrutiva.
Soraia: a busca e o encontro
Se Rubem ainda est nos incios de sua vivncia na UDV, Soraia, de 45 anos de idade, j tem 17 anos de participao. Ela nasceu no interior de Minas Gerais, em uma famlia catlica. Desde a infncia, tinha a sua ateno despertada pela experincia da morte, como ela conta: Desde menina me chamou muito a ateno, muito a ateno mesmo, a morte. Por que as pessoas morrem, tem doena? Eu me lembro que aos cinco anos de idade j
97
pensava em ser mdica pra descobrir o que que era a morte. Eu tive experincias fortes com dois anos de idade, de morte de bichinho, que eu me lembrei com muito detalhe j, e com criancinha que morreu que era vizinha. Ento tudo aquilo me marcou muito. Ento essa questo da morte era algo desde a infncia muito forte. Mas a nessa poca eu dissociei da questo da religiosidade e a parece que nunca mais pensei em Deus na minha adolescncia. Era uma coisa que foi abolida. Eu fui distanciada da Igreja, parei de participar dos rituais e comecei a entrar numa linha mais filosfica, de querer conhecer o que que era o homem, o que era a morte, a lia sobre filsofos, lia sobre pessoas que investigavam estados de conscincia.86 Houve ento a aproximao de um enfoque mais cientfico, nessa busca de compreenso da mente humana, que desembocou na sua deciso de estudar medicina e especializar-se em neurologia: A comecei um outro tipo de busca de querer saber o que que era a mente, o que que era o crebro, como que eram os comportamentos. que eu sinto que no fundo isso era uma linha da religiosidade, era uma busca, s que ficou racionalizada, ficou totalmente racionalizada. A nessa busca racional de compreenso do que que a vida, do que que a morte, eu estudei medicina e dentro da medicina tambm a necessidade de querer entender mais, entender mais, e no achando resposta e na minha especialidade eu fui buscar a neurologia pra ver se eu conseguia saber finalmente o que que o crebro, a mente, o ser. E foi uma decepo enorme, porque eu percebia que as pessoas no sabiam nem definir o que que era a conscincia. Tinham estados de conscincia e os graus de inconscincia. Ento, ou as pessoas estavam vigil ou estavam em coma torporoso, grau 1, grau 2, grau 3 de profundidade. Mas no tinha nada que mostrasse que as pessoas estavam mais acordadas ou menos acordadas, acordadas. Isso foi uma coisa que me chamou muito a ateno desde o princpio. Tinha pessoas que pra mim era bvio que elas no estavam acordadas, embora trabalhassem, andassem. A ento eu comecei a me interessar a estudar uma rea mais psicolgica, pra ver se eu tinha mais respostas nessa linha, de querer saber o que era o comportamento.
86
Entrevista de Soraia, em So Paulo, 22 de outubro de 1998. As citaes seguintes, neste item, so da mesma entrevista.
98
significativo que Soraia releia essa sua busca racional de compreenso do que que a vida ou busca de entender a mquina homem como uma busca religiosa. A experincia posterior com o ch Hoasca propiciou-lhe uma reinterpretao de toda a sua trajetria, como busca que chegou a um encontro. Ela narra esse encontro, que se deu na primeira vez que ela bebeu o Vegetal, em 1982, quando uma amiga sua, mdica da Unicamp, lhe fala de um ch que vinha da Amaznia que lhe tinha proporcionado uma experincia que ela compreendeu como viso de uma vivncia acontecida em outra encarnao. Soraia se interessou e foi conhecer o ch: A eu resolvi ir e a primeira vez que eu bebi o ch foi como se tivesse resgatado o contato com a espiritualidade, como se eu tivesse sentido outra vez que eu sou esprito. E foi uma coisa, uma experincia muito forte, muito interessante. Porque eu me senti completamente conectada com o cu, com a terra, com os seres do planeta. Eu senti o meu corpo como sendo a terra, sabe? Uma conexo do meu corpo com a terra, com o meu ser... A primeira experincia eu posso definir como uma experincia de integrao com o todo, de unificao; a minha percepo que eu era o todo, o todo era contido em mim, que o meu universo interno era algo sem limite, uma sensao de ter Deus em mim e eu ser Deus, mas no era uma sensao de um eu restrito, era aquele eu... que eu acho que depois pelas descries que eu vi, uma sensao de xtase mstico. E se desde a infncia ela tinha um interesse pela natureza humana, nessa primeira vivncia lhe acontece algo inesperado: uma percepo da natureza a partir do reino vegetal, que lhe tambm ocasio do que ela chama de resgate da religiosidade: E que foi interessante tambm nessa primeira sesso, que ao mesmo tempo eu tive essa experincia de xtase mstico e depois na seqncia eu tive uma experincia muito forte com a floresta amaznica, eu tive uma experincia de estar no meio da floresta e de repente senti que eu era uma rvore. A percepo minha de que eu era rvore! Foi algo que chamou muito minha ateno tambm. At um animal eu acho que era uma coisa que cabia dentro do meu conhecimento, mas algo do reino vegetal! Era uma percepo ntida, era como se fosse perfeitamente cabvel dentro da minha sensibilidade saber o que era uma rvore, o que que sentia, como era, como era o fluir, como era a raiz, a folha, o vento, a semente... um negcio assim muito difcil de descrever. Mas uma vivncia de percepo mesmo, uma percepo muito forte. [...] E imediatamente parece que eu resgatei a
99
religiosidade nesse primeiro copo de vegetal, foi como se de repente eu tivesse resgatado a lembrana da religiosidade. Aps essa experincia to intensa, ela comeou a ir em todas as sesses possveis: Eu fui pro norte do pas atrs da origem, eu fui pra outros ncleos, aonde tivesse a oportunidade de beber o ch. E nessa poca tinha aqui em So Paulo um mestre, que era o Mestre Paixo, que era um mestre l da floresta mesmo, ento tinha uma freqncia maior de rituais tambm. Ento eu bebia em Campinas, era filiada em Campinas, mas ia nas sesses aqui em So Paulo, nos preparos, porque eu queria saber o que que era aquilo que eu tinha encontrado. Ao longo de quatro anos ela teve burracheiras fortssimas, com muitas miraes, nas quais freqentemente se via em outros lugares, participando de rituais com o uso do Vegetal: Era como se eu tivesse recuperando um conhecimento de um poder [...]. Na medida que lia descobria coisas que eu j sabia. Reencarnao, no tinha dvida alguma. Muita coisa... [...]Nos meus primeiros quatro anos de vegetal isso foi muito forte. A passei a ler tudo o que via pela frente a respeito de alquimia, ocultismo. Esse primeiro tempo, de predomnio das percepes visuais interpretadas como recordaes de outras vidas, foi sucedido por um segundo momento, que se estendeu por seis anos, de exame profundo de si mesma: A comeou uma outra fase de viagem profunda dentro de mim mesma. Era como se eu vestisse uma lente de aumento para ver detalhes. Era beber o Vegetal e me ver! Durou uns seis anos. Eu fazia psicanlise e o psicanalista, bem ortodoxo, queria saber o que eu bebia. Acelerou muito meu processo de auto-conhecimento. Essa poca foi muito frtil.
Soraia tambm passou a ter uma compreenso nova a respeito da doena e
da cura. Chegou a estar em sesses nas quais teve viso da cura de algumas pessoas acontecendo naquele momento. Outra vivncia foi com o seu pai: Meu pai estava num pr-coma heptico, com muita dor. A comecei a fazer a chamada da Serenita. O efeito das chamadas era algo to evidente que minha me pedia que eu fizesse.
100
Soraia destaca a intensidade dessas experincias nos rituais da UDV e a relao
delas com as demais religies: uma vivncia muito sensorial. Eu tenho a experincia, no me contam. No a informao, uma vivncia. precioso. incrvel a conexo com todas as religies, com o que tem de verdade em todas elas. sou super interessada na percepo que nas religies se tem de Deus. A experincia dos rituais xamnicos, dos budistas , dos catlicos que tem uma fora enorme, mas ficaram mecanizados. A experincia da burracheira me d uma sensibilidade para os rituais. Sinto como importante o ritual, pra criar uma predisposio para se ter um contato. Na leitura que ela faz de sua trajetria, Soraia identifica uma terceira fase, atual, que ela caracteriza como centramento no aqui e no agora: Depois disso foi uma experincia de presena, de me centrar, no aqui e no agora, algo que mais possvel atingir numa meditao sem o uso do ch. Diminuiu o contedo visual e ficou o sentimento de presena. Enquanto estou crescendo a burracheira frtil, quando estou estagnada a burracheira vazia. [...] Segundo Soraia, todas essas vivncias no ficaram limitadas em um setor de suas aes, mas transformaram sua vida, inclusive no mbito profissional: Eu tinha uma frase: se eu acreditasse no que vocs dizem, minha vida ia ser centrada nisso. E como se desse uma guinada na minha vida. Mudou o direcionametno profissional, no suportava mais uma viso delimitada, meu trabalho mudou completamente, se tornou mais holstico. [...] A espiritualidade passou a ser o centro da minha vida. Todo o meu trabalho gira em torno disso. O que flui de uma gerao pra outra: quanto mais me adentro mais refora que a espiritualidade o centro. Tem pacientes que me dizem: Ah, eu estou buscando a luz! A vida existe pra se conhecer o que o esprito. Conhecer o que existe. Quanto mais eu bebo o vegetal, mais eu tenho interesse em conhecer tudo o que est relacionado com a espiritualidade. Na etapa atual de sua vida, Soraia rev o entusiasmo inicial, com as dificuldades enfrentadas, e fala da serenidade do presente: Eu encontrei dificuldades no sentido da aceitao das pessoas. Pra minha famlia era um espanto: ao mesmo tempo em que eles sabiam do meu conhecimento pra no
101
tar ali de bobeira, era difcil. Foi criado o Centro de Estudos Mdicos e eu era a vicediretora. A pesquisa concomitante me levava a no pensar que eu estava equivocada. Pesquisei no mundo inteiro quem j tinha estudado, tudo que podia estar relacionado com a Hoasca eu pesquisei. No comeo, houve uma postura fantica. De querer experimentar mais e mais. A dificuldade maior foi continuar dentro dos esquemas que eu tinha: o tipo de pessoas com quem eu convivia se alterou rapidamente. Na medida em que eu pude conhecer a UDV, eu priorizei isso acima de qualquer outra coisa. E acho que foi importante. No acho que esse mergulho era fundamental. Hoje, estou em outro momento, eu no preciso ir aonde tem, eu levo aonde eu vou. Hoje entrar em contato com vrios segmentos da sociedade, eu levo muito.
Spencer: arquitetura luz da Hoasca e rosas para a Virgem Maria
Spencer de Morais Pupo Nogueira87, atual Mestre Representante do Ncleo Alto das Cordilheiras, tem 61 anos de idade e nasceu em Campinas, numa famlia catlica. Tendo tido na juventude uma trajetria que pode ser caracterizada como de participao na contra-cultura e tendo cursado a faculdade de arquitetura, Spencer conheceu a UDV em 1975. Alguns anos depois, chegou ao Quadro de Mestres. No incio dos anos 90, Spencer discordou publicamente do ento Mestre Geral Representante e foi afastado da comunho do Vegetal. Nessa poca, ele parou de freqentar a Unio do Vegetal um ano, dois anos, mais ou menos88. Ele continua narrando suas atividades na seqncia: A teve um amigo meu, falou pra eu ir l pra Porto Velho, fazer umas conferncias por causa da tese que eu desenvolvia de arquitetura, eu fazia umas conferncias l nos rgos pblicos e eles me pagavam as passagens pra eu ir l. Quanto sua participao na Unio do Vegetal, Spencer conta: Da continuei aqui meio vacilado, no ia, chateava as pessoas na sesso, ngo bonzinho, eu dizia: no nada disso! Aproveitava meus conhecimentos e no deixava passar nada que fosse piegas, nada que fosse de bonzinho. E assim foi, as pessoas tiveram pacincia comigo. Ou pacincia ou no sabiam o que fazer tambm.
87
Aqui no recorro utilizao de pseudnimo para designar Spencer, com a autorizao do mesmo, para poder citar sua tese doutoral e indicar a autoria de seus desenhos, apresentados nesta dissertao. 88 Entrevista de Spencer de Morais Pupo Nogueira, em Campinas, 3 de outubro de 1998. As citaes seguintes, neste item, so da mesma entrevista, salvo quando indicado o contrrio.
102
No tempo em que estava comeando a se reaproximar da UDV, Spencer viveu uma experincia forte que desencadeou nele um processo de converso: Da eu fui pra Europa, num congresso de estados diferenciados de conscincia, por causa de uns desenhos que eu fazia. Um congresso em Lrida, na Espanha. [...] Teve um dia que eu tomei pouco vinho - eu sou forte pra bebida, eu era forte pra bebida - no tempo l em que eu voltei pra Unio do Vegetal continuava bebendo umas cervejas. Fui tomar um vinho e me deu uma coisa estranha, l em Lrida. [...] E a peia comendo feia. Como se eu tivesse de burracheira. S tinha bebido vinho. At que eu fiz uma chamada bonzinho... nem me lembro mais. Eu vou fazer tudo direitinho... a melhorou. Mas nisso a eu vi o seguinte: teve uma hora que me mostraram, como se apontassem um dedo. O seu trabalho aqui - e mostrou este lugar. Aqui, neste ncleo. A que o lugar do poder da tua ao. A eu vim falei com o Paulo e tal, t querendo voltar, num sei qu. Isso foi em 93. Da eu vim pra c e comecei a limpar porta, trabalhar manualmente. A depois de um tempo j vim pro Corpo Instrutivo, depois de um tempo pro Corpo do Conselho, depois vim pro Quadro de Mestre, depois fui escolhido pra ser Mestre Representante e aqui estou. A partir de suas viagens Amaznia, Spencer delineou o seu projeto de pesquisa para o doutorado em arquitetura e urbanismo na Universidade de So Paulo: Trata-se do prottipo de um Modelo de Ncleo Urbano para reas de Extrativismo na Amaznia [...]. Esperamos que este prottipo de Ncleo Urbano Extrativista seja implantado no seringal Novo Encanto, rea de 8.025 ha no Estado do Acre, doado Unio do Vegetal pela organizao Norte Americana Medicina da Terra que tem na Ecologia seu escopo principal. (PUPO NOGUEIRA, 1994, p. viii - ix) Na sua tese doutoral, Spencer exps a sua experincia com a Hoasca como caminho de acesso ao processo de conhecimento pelo sentir, que lhe possibilitou idealizar seu Ncleo Urbano Florestal. Em sua obra, o arquiteto dedica um tpico a O tempo de borracheira, com o intuito de transmitir a transformao no siginificado da substncia dos objetos materiais, escolhemos duas experincias relativas Madeira, por se tratar do material com que ser realizada, praticamente, a totalidade do ncleo urbano projetado, e tambm, por ser antigo conhecido dos arquitetos. (Id., p. 54)
103
Spencer narra primeiramente suas experincias no Lago do Arara, Alto Rio Negro, por ocasio de um Preparo do ch com os freqentadores do Ncleo Caupuri de Manaus: O dia amanhecera como o anterior, brisa leve, reflexo perfeito das guas negro-espelho. Havamos bebido o Vegetal de manh (durante o preparo bebe-se diversas vezes) e tido conversas agradveis e proveitosas com os manauaras. tardinha, luminosa mas sem o Sol direto, estvamos apreciando o reflexo perfeito da floresta da margem oposta nas guas, quando Pierluigi, um arquiteto italiano, chegou em minscula canoa indgena [...]. Por ele ter conseguido, nos atrevemos a tentar tambm depois de instrudo, meio inseguro, deslizamos no Lago do Arara. [...] Sentimo-nos to bem, que deitamos no fundo do barco, a claridade do cu no feria os olhos, e tivemos a maior sensao de
conforto e segurana que sentimos em nosso mais de meio sculo de vida.
Pouco depois, ainda na embarcao, refletimos se aquela sensao sentida
enquanto estvamos envoltos pelo bojo da canoa - canoa que segundo a tradio indgena
feita com a madeira de determinada rvore, rvore que antes de ser derrubada foi consultada se o poderia ser para que com ela se fizesse um barco, barco que abrigaria uma famlia, famlia agradecida a ela por ter cedido seu corpo como barco para a labuta diria poderia ter sido vivida em outro barco annimo de alumnio leve e forte?
Continuamos a refletir, inquirindo se aquele costume contido no ritual da rvore no poderia ser vestgio de uma civilizao esquecida, sensvel a outra categoria de
conforto emanado diretamente da substncia? (Id., 55-56)
Em seguida, Spencer descreve uma segunda experincia, esta no templo do Ncleo Lupunamanta, em Campinas, que ele havia projetado e construdo: Em uma sesso de Vegetal, durante o alto tempo de borracheira, confortavelmente instalado em uma poltrona, rodeado de pessoas conhecidas, estvamos olhando vagamente o espao formado pelas vigas e caibros da alta cobertura, parecia mais uma ossatura, vista por dentro, de um enorme animal (percepo que nos auxiliou a conceber a Grande Cobertura do ncleo urbano que dissemos lembrar a caixa torxica da mtica Anaconda, em perspectiva interior). Repentinamente, como uma vertigem, destacou-se em nossa percepo o tensor de uma das grandes tesouras que sustentam esta cobertura. Ele havia se desrevestido, ou melhor (?), ns o havamos desrevestido de sua conotao annima de madeira, e se transmutado, na lembrana da grande rvore que fora, singular e presente. rvore, como
104
que, exigindo um espao na conscincia humana, em que fosse reconhecida sua virtude de estar a, firme e quieta cumprindo sua misso de sustentar o abrigo do homem. A viso se enriquecera com o pulsar em ns, de um agradecimento desconhecido, por toda aquela vida materializada em madeira. Um estalo na lareira chamou nossa ateno para uma lenha em chamas, que parecia dizer: tambm estou aqui, h muitos milnios! Lembramos de nossa ps-graduao em Madeiras e suas caractersticas em que o Prof. Joo dissera: a madeira puro raio de sol, com um pouco da poeira da terra. Nesse instante, por estranha sincronicidade muito comum nas sesses do Vegetal, um dos presentes comeou a fazer uma chamada (msica evocativa de foras da natureza, cantada durante uma sesso por um discpulo que sentiu que o deveria fazer), era a Chamada da Samama [...], a maior rvore da Floresta Amaznica. (Id., p. 56-57). Assim, Spencer apresenta a primeira tese acadmica no Brasil com uma reflexo acerca da Unio do Vegetal. Alm de arquiteto e professor, Spencer artista plstico. Os longos anos de seu processo de conhecimento pelo sentir, mediado pelo ch Hoasca na UDV, refletem-se em seus desenhos e pinturas, dos quais exponho aqui algumas reprodues. Alguma idia acerca da conexo entre sua experincia esttica e sua vivncia espiritual-religiosa pode ser proporcionada pela sua narrativa de um exerccio imaginativo orante, que ele tem feito diariamente, sem o uso do Vegetal: De uns meses pra c meu relacionamento com Deus vem melhorando muito graas Virgem Maria. Por ser homem, a minha parte afetiva de relacionamento com o Superior, sendo com mulher facilitou, mas agora t bom com Deus tambm. Fao umas alquimias... num livro, eu li que a Virgem Maria disse que tem uma casa branca dentro de cada um de ns. Ento aquela imagem da Igreja Catlica, muito no altar - ah eu pequeno! diminuiu aquilo por uma palavra que ela fala: Vem, entra, vem aqui nessa casa, acaba de fazer o projeto do jeito que voc achar melhor, eu t aqui dentro, te quero bem, pode me chamar de me se voc quiser. E da foi uma palavra que pra mim foi mgica: Porque aqui dentro a camaradagem de me e filho natural. Vai ter oito meses, mais ou menos, que fao uma alquimia imaginativa nessa casa, nesse jardim que eu t inventando: uma rosa por dia, todos os dias, enquanto toca trs ave-marias, na primeira invento a rosa, na segunda busco a Virgem Maria na casa dela e na terceira mostro a rosa pra ela acabar de fazer a rosa, tudo isso na imaginao. E da resolvi fazer a Chamada do Amor Vivssimo que poucos mestres tm coragem de fazer. A fiz um preparo aqui, que todo mundo reconhece que foi um Vegetal
105
ponto grau. Senti no momento do preparo com a Virgem Maria dum lado e com a Senhora Santana do outro. De p uma do lado e outra do outro, eu de p tambm. [...] Um preparo interessante, mudou o ncleo a. E a parte mais forte da chamada aquela: alcanai a dor profunda de meus pecados. Essa que a parte. Porque voc com essa frase tem que se abrir, no tem coisa escondida. Nessas alquimias mentais a... Jesus fala: a pessoa pra entrar no Reino do Cu tem que ser como um menino. Ento nas minhas alquimias o que que eu fiz? Eu fiquei como um menino. Desse modo, sua narrativa aponta para uma significativa transformao ao longo de sua trajetria na UDV, emblematizada por essa mudana, de crtico que chateava as pessoas na sesso e no deixava passar nada que fosse piegas para um afetuoso devoto da Virgem Maria, que, com seus conhecimentos de arquitetura, lhe constri uma casa em sua imaginao e, com seus dons artsticos, cria para ela uma nova rosa a cada dia.
106
3.2. ALCANAR O ALTO DAS CORDILHEIRAS
De dentro do resumo, e do mundo em maior, aquela crista eu repuxei, toda, aquela firmeza me revestiu: flego de flego de flego - da mais-fora, de maior-coragem. Joo Guimares Rosa, Grande Serto - Veredas
No intuito de descrever a vivncia simblica dos participantes da Unio do Vegetal do Ncleo Alto das Cordilheiras, me concentrarei em algumas das categorias presentes no discurso desses membros da UDV: burracheira, Mestre e discpulo, conhecimento, sentir,
conscincia, memria, ordem, peia, miraes, evoluo espiritual. Essas categorias nativas
sero abordadas sob um enfoque interpretativo, na busca de captar a lgica da experincia simblica da Unio do Vegetal. O ttulo deste tpico, alm de evocar o nome do ncleo no qual realizei meu trabalho de campo, faz uma referncia ao uso pelos participantes da UDV da expresso Alto das Cordilheiras para designar o lugar mais elevado no Astral, o lugar da divindade, para onde os discpulos esforam-se em chegar. Como na narrativa fundante da Unio do Vegetal, a Histria da Hoasca, h uma referncia ao Imprio Inca, faz sentido que o Alto das Cordilheiras tenha sido o smbolo escolhido para falar do mais alto lugar espiritual. E assim como para a escalada de uma alta montanha, faz-se necessrio um grande empenho, firmeza, flego, para alcanar as alturas do Astral divino. Os termos apresentados a seguir podem ser considerados como balizas que orientam o percurso do discpulo em direo ao topo desse monte.
Burracheira
O estado alterado de conscincia desencadeado pela ingesto da Hoasca chamado de burracheira. Na Colmbia, as populaes amaznicas designam de borrachero ou
borrachera os
89
arbustos do
gnero Brugmansia, que costumam mesclar com a
ayahuasca . Isto atesta que h na rea amaznica de lngua espanhola um uso do termo borrachera no apenas no acepo comum da palavra em castelhano, de embriaguez
89
Cf. LUNA, 1996, p. 25. SCHULTES, RAFFAUF, 1990, p. 419-422. SCHULTES, HOFMANN, 1992, p. 27.
107
motivada por bebida alcolica, mas tambm num sentido especfico de estado alterado causado por planta psicoativa. No entanto, o significado da palavra burracheira para os discpulos da UDV, segundo palavras do Mestre Gabriel, fora estranha. O efeito do ch Hoasca algo de difcil caracterizao, dada a pluralidade de possveis vivncias suscitadas por seu uso. De modo geral, pode-se falar de uma alterao intensa das sensaes, sentimentos e percepes durante o perodo de efeito da Hoasca, que costuma durar aproximadamente quatro horas, que o tempo de durao de uma sesso da UDV. So freqentes as experincias de percepes visuais denominadas miraes.
Roberto, jovem na faixa dos 20 anos, estudante universitrio, respondeu do seguinte
modo pergunta que fiz acerca do que a burracheira:
A burracheira pra mim um estado de conscincia que a gente fica, de esprito. Pra mim eu vejo que quando eu t nesse estado de burracheira como se o meu esprito tivesse sido alimentado. De repente, a gente analisa a realidade aqui, essa mesa, v as coisas palpveis.... e a burracheira apresenta os novos tipos de sentido. De repente a plantinha que t ali... voc olha pra planta diferente do que tava olhando, ah aquela planta t assim, assim; voc consegue ver uma anlise da realidade de um jeito muito mais profundo. E tambm pinta uns novos estilos de pensamento, pensa umas coisas que s possvel pensar tando de burracheira, s assim no sei, mas um jeito que pelo menos pra mim eu no consigo conceber assim... tipo um pensamento que s vezes eu tenho de burracheira analisando a verdade da vida: tempo, espao, Deus. Voc sabe, essas coisas assim, de repente voc chega a pensar umas coisas l que voc no tem nem palavras, que voc t l pensando. Ento uma coisa nesse nvel.90
E, alm dos pensamentos, ele tambm fala do sentimento mais experimentado no tempo de burracheira:
Ah, esse sentimento de gratido, mesmo! Gratido por ser um cara, t vivo, isso uma realidade. Tem outras coisas da vida ps-morte que eu acredito, mas tem aqueles caras que so cticos, ento no d pra provar. Mas uma coisa que d pra provar assim: eu t vivo, aqui, pensando, com a minha conscincia, o mundo inteiro, um monte de cabecinha pensando... mas eu sei que eu t aqui, de repente eu sou o Roberto, tenho a minha vida, meus amigos, as coisas que acontecem, tal, toco violo, toco guitarra, posso fazer umas coisas assim... Ento quando t l assim, uma coisa que fica sempre presente muito pra mim a gratido, a gratido acho que mais marcante.91
90 91
Entrevista de Roberto, em Campinas, 26 de outubro de 1998. Id.
108
O livro que faz a apresentao institucional do CEBUDV afirma que o efeito do ch pode ser comparado ao xtase religioso [...] - um estado de lucidez contemplativa, que coloca a pessoa em contato direto com o plano espiritual (CENTRO ESPRITA BENEFICENTE UNIO DO VEGETAL, 1989, p. 30). Assim, a burracheira concebida na Unio do Vegetal como uma fora, algo que tem origem na prpria Fora Superior, expresso freqentemente utilizada para fazer referncia divindade. Essa fora desconhecida, estranha, para o ser humano. Por isso, o participante da UDV busca se preparar para, durante as sesses, entrar em contato com a burracheira. O Mestre aquele que o conduz nessa experincia.
Mestre e discpulo
Certamente, a palavra que se pronuncia mais vezes numa sesso da Unio do Vegetal mestre. Antes de mais nada, a palavra mais usada para se denominar a Divindade, ou a Fora Superior. Os seres humanos esto neste mundo para aprender, ou seja, evoluir espiritualmente. Assim, Deus sobretudo o Mestre que ensina. Ensina a quem? Surge aqui o correlato categoria de mestre: o discpulo. Este surge en creux, no uma palavra to freqentemente utilizada como mestre, mas est de certo modo implcita na fala de quem chama o mestre, colocando-se no lugar de aprender. Aprender o qu? Surge aqui o terceiro elemento dessa relao: o conhecimento. O Mestre transmite o conhecimento das coisas espirituais. Desde j, pode-se perceber o papel fundamental que cabe ao
conhecimento na UDV. E assim como a vida, tambm o ritual um aprendizado, a UDV
uma escola na qual se aprendem os ensinos do Mestre. E o Mestre tem seus mensageiros que trazem os seus ensinos. Jos Gabriel da Costa um deles, como Salomo, Jesus... O fundador da UDV , portanto, chamado igualmente de Mestre. Segundo um conselheiro, Jos Gabriel da Costa um mestre que conhece o caminho que um esprito precisa percorrer para encontrar o significado de sua prpria existncia; e conhece porque percorreu o seu prprio caminho; e mestre porque se disps a auxiliar.92
Entrevista de Nelson, em Campinas, 30 de setembro de 1998. Grifos meus. Produtor cultural, na faixa dos 40 anos.
92
109
A todas as pessoas que entrevistei fiz a pergunta: Quem , para voc, Jos Gabriel da Costa?. Houve uma grande variedade de respostas. Denise, que est no Quadro de Scios, respondeu: Mestre Gabriel pra mim um mistrio. Eu ainda no sei o que sinto, ele um velhinho interessante, [...] difcil achar que ele mestre, um mestre pouco convencional. mais fcil pensar num lama tibetano.93 Aparece talvez a a dificuldade de algum de formao universitria aceitar como mestre um seringueiro semi-analfabeto. Realmente, um lama tibetano seria certamente mais palatvel num primeiro contato. Mas medida que as pessoas permanecem mais tempo na UDV o mistrio dessa pessoa as envolve cada vez mais. Renato, que j participa da UDV h 18 anos, diz a respeito de Jos Gabriel da Costa: um mistrio, ele fascinante, ele a luz. como ter de descrever o que a humildade. Precisa sentir.94 Respostas como essa, que fazem recurso a palavras muito utilizadas na UDV, como luz e mistrio, so recorrentes. Assim como a indicao do caminho do sentir como possibilidade de acesso percepo de quem ele . Um outro aspecto, apontado por Alice, que conhece a UDV h 10 anos, a proximidade de Jos Gabriel da Costa:
Um grande amigo, algum que mesmo que eu no conheci pessoalmente algum muito prximo. E mais, um amigo que se faz presente nos momentos importantes de minha vida. Eu at penso em desistir mas ele sempre de uma maneira inteligente me traz de volta. At porque tem uma caracterstica: eu no conheo outro mestre que se coloque de forma to humana. Andei no mau caminho, coloca-se num plano como o nosso. Mostra que a transformao possvel de verdade.95
Esse sentimento de proximidade tambm apontado por Clarice, uma senhora simples, com pouco estudo acadmico, que j passou por muitas situaes de sofrimento e percebe essas dificuldades na vida de Jos Gabriel da Costa:
uma pessoa assim que no teve estudo [...] Mas, por que ele foi to sofrido? Viveu num lugar pobre, seringueiro, teve um filho excepcional. [...] Por que no veio numa vida melhor, sem tantos problemas financeiros? [...] O Mestre Gabriel um recordado.96
Esse olhar de empatia, que v no Mestre um espelho de si mesmo e, simultaneamente, algum que tem um grau espiritual alto, tambm se verifica na entrevista de Mestre
93
94
Entrevista de Alice, em Campinas, 17 de setembro de 1998. Advogada, na faixa dos 30 anos.
96
95
Entrevista de Denise, em Campinas, 19 de outubro de 1998. Mdica, na faixa dos 30 anos. Entrevista de Renato, em So Paulo, 21 de outubro de 1998.
Entrevista de Clarice, em Campinas, 15 de setembro de 1998. Dona de casa, na faixa dos 70 anos.
110
Dcio, psicoterapeuta: ele um terapeuta interno. Pra mim hoje o Mestre Gabriel uma
luz, que permite o desvelamento do meu eu verdadeiro; quando o meu eu verdadeiro estiver plenamente lapidado, a misso dele comigo estar concluda.97 A polissemia da vida de Jos Gabriel da Costa est, primeiramente, relacionada ao carter polissmico de toda existncia humana. Mas, pela densidade e diversidade das experincias por ele vivenciadas e pelo mbito sagrado no qual se d o conhecimento e identificao com o Mestre, por vezes se observa um processo que poderia ser lido, numa perspectiva hermenutica, a partir deste texto de Ricoeur:
Ao se compreender a si mesmo nos e pelos signos do sagrado, o homem opera a mais radical despossesso de si mesmo que possvel concebermos. [...] Uma arqueologia e uma teleologia desvelam ainda uma arch e um tlos de que o sujeito pode dispor-se ao compreend-los. O mesmo no ocorre com o sagrado [...] Desse alpha e desse mega o sujeito no poder dispor-se. O sagrado interpela o homem e, nessa interpelao, anuncia-se como aquilo que dispe sua existncia, porque a pe absolutamente, como esforo e desejo de ser. (RICOEUR, 1978, p. 23).
Assim, tanto o arch - o princpio, a origem, o enraizamento no passado - que se desvela em experincia do limite na vida de Clarice e de Jos Gabriel da Costa, quanto o tlos - o fim, a meta, o dinamismo voltado para o futuro - que se vislumbra na superao dos limites na existncia do Mestre e nos desejos de Dcio de um eu plenamente lapidado so vivenciados como interpelao radical que dispe a vida numa dinmica de busca. Tambm os lderes da Unio do Vegetal so designados pelo nome de mestre. Assim, h trs planos de aplicao da palavra mestre numa sesso da UDV: o divino, o relativo ao Mestre Gabriel e o referente aos que tm a estrela de mestre no CEBUDV. Essas significaes mltiplas da palavra mestre numa sesso da UDV podem suscitar ambigidades, mas provavelmente sero mal-entendidos produtivos, na medida em que se delineia uma correlao alto-baixo que sanciona a autoridade hierrquica e faz com que o divino seja sentido como mais prximo. A todo momento chama-se o Mestre, e o mestre dirigente da sesso, prontamente, responde. Nos estatutos, por exemplo, se afirma que a sesso ser dirigida pelo Mestre e por quem for designado a represent-lo, ou seja, todas as sesses tm por dirigente o Mestre Gabriel; a pessoa que ocupar o lugar de mestre
Entrevista de Dcio, em Campinas, 15 de outubro de 1998. Psiquiatra e psicoterapeuta, na faixa dos 50 anos.
97
111
dirigente da sesso ser um representante dele. Na maioria dos ncleos onde j estive, nas ocasies em que uma mulher dirige uma sesso, quando feita uma pergunta a ela se usa a frmula: Mestre, o senhor d licena de fazer uma pergunta? Mas no Ncleo Alto das Cordilheiras presenciei uma sesso em que uma conselheira que ocupava o lugar de mestre dirigente respondeu a algum que usou essa frmula: O senhor pode me chamar de
senhora mesmo... De qualquer modo, busca-se enfatizar que o dirigente est no lugar do
Mestre Gabriel. Esse aspecto do lugar ressaltado, no sentido de que Mestre da Unio do Vegetal realmente o Mestre Gabriel, os demais mestres so tambm discpulos, que tm uma tarefa: transmitir a doutrina da Unio e, junto com os conselheiros e conselheiras, dirigir o ncleo da UDV. O discpulo, como afirmei acima, algum que se coloca no lugar de aprender. E a sesso o espao mais adequado para isso. Assim, na UDV o tempo do ritual fortemente marcado como um tempo de exerccio da palavra. O jogo de perguntar e responder preenche a maior parte da sesso. E a pergunta feita ao mestre dirigente que responde enquanto mestre, isto , como algum que ensina. Ao chamar esse jogo de exerccio da palavra, refiro-me aqui a um sentido forte do termo exerccio. Assim como uma atividade fsica intensa e ordenada um exerccio, do mesmo modo o uso da palavra nas sesses da UDV exige muitas vezes de quem o faz um esforo, ateno e preciso que fazem de tal atividade um exerccio exigente. Diante da fora da burracheira, pode ser necessrio um esforo grande, at mesmo para simplesmente levantar-se e articular uma pergunta. No turbilho de sensaes da burracheira, pode ser preciso muita concentrao e ateno para focar um assunto e elaborar uma questo sobre ele. E neste jogo se demanda uma fina preciso, na medida em que no se pode usar qualquer palavra de qualquer modo. H toda uma srie de prescries que visam excluir das sesses palavras inadequadas, j que a burracheira percebida como algo que moldado plasticamente pela palavra, o que suscita cuidados para que as pessoas no sejam conduzidas por palavras inadvertidamente pronunciadas a situaes difceis. Deste modo, h toda uma preocupao com a forma, com a escolha dos vocbulos, que faz desse exerccio da palavra algo exigente. E ainda mais, muitos mestres costumam corrigir os discpulos quando estes empregam uma palavra ou expresso inadequada. Quando, por exemplo, o que pergunta diz: Eu queria saber..., ele pode ouvir do mestre: O senhor queria, agora no quer mais? Assim, faz-se necessria uma certa docilidade do discpulo, para se deixar corrigir pelo mestre... A disponibilidade
112
para aprender e a participao nas sesses, principalmente perguntando, assim como o empenho em participar dos trabalhos e atividades do ncleo possibilita ao discpulo vir a ser convocado para o Corpo Instrutivo, o grupo de discpulos que j subiu um degrau na hierarquia, podendo participar das sesses instrutivas, realizadas a cada dois meses, nas quais so transmitidos ensinamentos mais reservados da UDV.
Conhecimento
A relevncia do conhecimento, na viso de mundo da UDV, pode ser observada considerando-se os pedidos feitos no ritual e pelos frutos que se ensina esperar da burracheira: receber da chacrona, o arbusto Psychotria viridis, luz para conhecer e do mariri, o cip Baisteriopsis caapi, fora para aplicar o conhecimento na vida. Essa nfase na busca do conhecimento assemelha-se quela ensinada pelo gnosticismo dos primeiros sculos da era crist. Ainda que na Unio do Vegetal esse elemento seja equilibrado com a acentuao dada igualmente necessidade daquilo que Mestre Gabriel chamou a prtica fiel do bem. Perguntado se a UDV uma gnose, um mestre respondeu:
No sentido da palavra, sim. difcil dizer o que eram os gnsticos, porque um nome usado pra tantas coisas diferentes, uma coisa muito difcil... Mas, no aspecto do conhecimento, do valor espiritual do conhecimento, da realizao pelo conhecimento, eu acho que tem muita coisa a ver. Porque tem muitas coisas normalmente associadas ao que se chamava de gnstico que no tm a ver, como por exemplo, uma diviso entre eleitos e no eleitos, esse aspecto no existe. Mas existem alguns aspectos de ensinamento que so coisas assim literais, escrita assim a mesma frase. Ento alguma coisa tem a ver. [...] O Mestre Gabriel nunca se colocou como detentor exclusivo do conhecimento. O conhecimento est no alto, quem chegar l alcana. 98
Essa relao com a gnose pode ser inferida a partir da afirmao de Lusa, Conselheira, na faixa dos 50 anos, psicloga: a linha do Vegetal, essa linha mais direta, pros herdeiros de So Tom; a f deles precisa das colunas do sentimento e do
98
Entrevista do Mestre Paulo, em Campinas, 16 de outubro de 1998.
113
conhecimento.99 Nesse aspecto, possvel pensar uma analogia com a crena dos antigos romanos, que no acolhiam afirmaes teolgicas e metafsicas sem antes submet-las crtica. Linder e Scheid afirmam que de ce point de vue, les Romains taient des SaintThomas, mais de Saint-Thomas modles de la bonne foi, et non de lincroyance (LINDER, SCHEID, 1993, p. 55). E na nota relativa: La meilleur preuve tant celle des yeux(Id., nota 46, p. 60). Ora, o exerccio da crena na UDV talvez possa ser definido como aquele dos herdeiros de So Tom, como disse Lusa, na medida em que a f no exigida a priori, mas se configura como o resultado de uma vivncia - na qual, alis, a viso tem um papel de substancial importncia - das faculdades do sentir e do conhecer. Como aponta Otvio Velho:
Agora, como se So Tom fosse o apstolo do novo tempo. Um tempo que exigiria uma religiosidade da experincia direta, onde o conhecimento subsume a afetividade e posto no lugar da transmisso exclusivamente por via da tradio, a qual no tem valor seno na medida em que reinventada convincentemente. (VELHO, 1998, p. 38).
Assim, o prprio Mestre Gabriel disse: no acreditem no que eu digo; examinem! ... pra ver que eu estou certo. Esta frase muitas vezes recordada nas sesses e fora delas, e traz para a Unio do Vegetal uma flexibilidade quanto aos graus de aceitao da doutrina, na medida em que esse exame permanece aberto. Lus, professor, na faixa dos 50 anos, afirmou:
As religies exigem uma conformidade e um consenso, mas a UDV no. Embora ela aparentemente exija, ela abriga muitas pessoas como eu. A gente aprende o que a gente pode falar e o que no pode. interessante voc olhar o Rajneesh. Ele dizia: a nica coisa que eu exijo de vocs que faam as meditaes. A UDV diz: bebe o Vegetal e paga a mensalidade. No tem nenhum credo. 100
No entanto, essa afirmao deve ser matizada, levando-se em conta que quem a faz do Quadro de Scios, apesar de j beber o Vegetal h mais de 4 anos. Como ele mesmo reconhece: Eu no sou da instrutiva. Voc tem que mostrar que da UDV, que faz as perguntas certas... Eu at gostaria, mas tem de passar por tudo isso. De certa forma eu no sou da UDV.101 Lus percebe que a convocao para o Corpo Instrutivo manifesta um grau de adeso que ele ainda no tem, o que faz com que de certo modo ele se sinta fora. Por
99
Entrevista da Conselheira Lusa, em Campinas, 20 de outubro de 1998. Entrevista de Lus, em Campinas, 6 de novembro de 1998. 101 Id.
100
114
outro lado, para o Quadro de Scios grande a flexibilidade. J do Corpo Instrutivo esperado um compromisso maior, at mesmo nesse aspecto doutrinrio, pois um dos boletins afirma: S poder seguir na Sesso Instrutiva aquele que aceitar as doutrinaes da mesma102. Mas no h um detalhamento do que significa essa aceitao, assim, permanece uma margem significativa para uma diversidade de compreenses. Certamente, a ascenso nos graus da hierarquia est relacionada ao grau de adeso doutrina de Mestre Gabriel, mas no de uma maneira unvoca, j que por exemplo, pode-se perceber de um ncleo para outro uma diversidade de exigncia de conformidade.
Sentir
A UDV uma religio de tradio oral, na qual a poro da doutrina considerada pelo prprio grupo como fundamental - as histrias e as chamadas - no est escrita e nem poderia vir a ser assim registrada, j que est prescrito que os ensinamentos sejam transmitidos de boca a ouvido. Isto suscita uma certa perplexidade em seus novos adeptos: qual o critrio para se saber se o conhecimento verdadeiro? O mesmo Mestre
Paulo, abordando a questo da identidade de Jos Gabriel da Costa, fala que existe esse
risco de cada um de ns hoje chamar uma srie de coisas, de sensaes a respeito de si mesmo, de chamar dessa palavra, de Mestre. [...] As pessoas costumam criar essa figura: eu falei com o Mestre , o Mestre me disse, n? Mas, em seguida, Paulo fala de determinadas ocasies em que pde perceber uma fora inteligente atuando na Unio do Vegetal:
Em muitos casos muito perceptvel essa intencionalidade, essa forma como as coisas vo acontecendo, e que se acontecesse diferente o resultado seria outro. [...] Quando eu digo uma fora inteligente algo que eu sinto que tem um propsito, uma razo, no uma fora como a fora de uma tempestade, uma fora que a gente sente que uma fora mas no d pra perceber a direo. Mas no caso da Unio do Vegetal existe esse aspecto inteligente e na minha vivncia pessoal, e nessa conversa voc pde ver exemplos, como na minha primeira mirao, que eu vejo como se fosse uma estratgia, uma estratgia de como chegar at a mim. [...] Ento, pra mim, esse Jos Gabriel da Costa, alm de ser o homem que foi, com o exemplo, que acho que um exemplo
102
Boletim da Conscincia Conservando a Tranqilidade dos Filiados do Centro, 4a parte. CENTRO ESPRITA BENEFICENTE UNIO DO VEGETAL, 1994, p. 58.
115
muito importante, prximo, brasileiro, prximo no tempo, na forma de vida, no espao, localizao geogrfica, linguagem, alm de ser esse homem, eu identifico o Mestre Gabriel como essa fora inteligente na Unio do Vegetal.
Em seguida, eu lhe pergunto qual o critrio para perceber o que verdadeiramente ao dessa fora inteligente e no personalizar sensaes individuais e cham-las de Mestre Gabriel. E ele responde:
A gente vai voltar no sentir, n? Eu uma vez perguntei pra uma pessoa, que inclusive eu conheci antes da Unio do Vegetal, uma senhora que desencarnou antes de eu chegar na Unio do Vegetal, uma pessoa muito espiritualizada, muito legal. Mas ela lia uns livros que eu achava que no tinha nada a ver, Lobsang Rampa, um negcio assim que eu achava meio marketeiro. A eu perguntei pra ela: Puxa, eu no entendo... por que voc l esses negcios, a? Ela falou o seguinte: Eu leio, eu leio tudo, agora, eu s guardo aquilo que me toca o corao. E mais ou menos isso, viu? Voc sabe; quando , voc sabe.
Esse status legitimador do conhecimento que tem o sentir na UDV tambm apareceu claramente em uma sesso no Rio de Janeiro, no Ncleo Pupuramanta. Falava-se acerca da verdade. Quando um discpulo perguntou como se pode ter a certeza de que algo que se v na burracheira verdadeiro e no uma iluso, o mestre dirigente da sesso respondeu: quando algo que o senhor v , realmente, verdade, o senhor sente; o sentimento mostra pro senhor que verdade. Afrnio Patrocnio de Andrade, que participou do Ncleo So Joo Batista, de So Paulo, tambm aponta para a dimenso do sentir, afirmando em seu ltimo captulo: Essa Religio, uma vez abandonando muitas das falcias da razo e se apegando a uma experincia em que se congeminam sentimentos e emoes, traz para o ser humano da cidade um elemento que lhe caro: a conscincia de si prprio. (ANDRADE, 1995, p. 246. Grifos meus). H, certamente, a autoridade de Mestre Gabriel, o fundador, que aceita como a de algum que o Mestre dos Mestres103. No entanto, na interpretao de suas palavras ou naqueles pontos sobre os quais ele no se pronunciou, o sentimento um critrio fundamental, especialmente o sentimento durante a burracheira. verdade que, na mesma sesso acima citada, um outro mestre lembrou que h o Conselho da Recordao dos Ensinos do Mestre Gabriel, que rene aproximadamente doze pessoas dos incios da Unio,
103
Mistrios do Vegetal, texto lido no incio de toda sesso de escala.
116
aqueles que receberam a estrela de mestre das mos do Mestre Gabriel. Assim, segundo o Mestre Manoel Nogueira, Mestre Geral Representante em 1996 e 1997, j falecido, todos ns, unidos, somos o Mestre Gabriel. Agora, para se chegar a essa unio, no fcil. At hoje, no se chegou. [...] H ainda muita coisa pra acertar, pra esclarecer.104 Pelo contexto, pode-se perceber que a a palavra ns refere-se aos mestres do Conselho da Recordao. De qualquer modo, ainda que em controvrsias especficas esse rgo tenha autoridade suprema para definir em consenso a doutrina legtima, no quotidiano da vida dos discpulos da UDV, um critrio bsico aquele referido acima, dado pelo Mestre Gabriel: examinem! Tal exame, para um discpulo da UDV, certamente no deve ser guiado pelas falcias da razo, como dizia Afrnio Andrade, mas sim pelo sentimento iluminado pela luz da Hoasca, isto , o sentimento aguado e aprofundado pela experincia da burracheira. Em 1981, foi publicada uma reportagem de capa, na revista Planeta, com o ttulo: A
Oasca e a religio do sentir105 (ARARIPE, jun 81, p. 34-41. Grifos meus). O autor,
Flamnio de Alencar Araripe, at hoje discpulo da UDV, do Ncleo Tucunac, em Fortaleza, Cear. No artigo, ele afirma que uma experincia inesquecvel sentir a energia deste ch em ao no organismo humano (p. 36). Descrevendo o efeito do ch, escreve que no interior da pessoa ele age como desobstrutor da sensibilidade real do organismo (Id.); como se a sensao da matria fsica entrasse em outro referencial onde o esprito comanda a sensibilidade (p. 37). Falando do poder de transformao do Vegetal, afirma que verdadeiras mudanas se operam entre as pessoas que continuam comungando este ch: a sensibilidade aumenta e com ela o discernimento (p. 40). Essa reportagem teve ampla repercusso entre os discpulos da UDV, de modo que at hoje freqentemente so feitas referncias Unio do Vegetal como a religio do sentir. Indagando a Flamnio a respeito da origem dessa expresso, ele me respondeu por e-mail:
Na sesso do dia 22 de julho, em So Paulo, conversei no Ncleo Samama com o autor desta expresso, o mestre Mario Piacentini, sobre o assunto da sua indagao. Falei pra ele que sempre quando comentam pra mim esta definio da UDV que deu ttulo reportagem da Planeta, digo que ele o autor. O velhinho com 83 anos, continua a transmitir a mesma alegria e lucidez de quando o conheci. Se voc ainda
Mestre Manoel Nogueira fala das origens da UDV. Entrevista a Cristina da Luz. Jornal Alto Falante, Braslia: nov dez 94jan 95, p. 9. 105 A grafia da palavra Oasca, sem H no incio, foi um lapso do autor do artigo, pois bem antes de sua publicao, j se havia fixado, entre os membros da UDV, a grafia Hoasca com H inicial.
104
117
no o conhece, uma experincia gratificante. [...] O segundo crdito nesta histria deve ser dado ao ento editor da Planeta, que soube pinar do texto a expresso que define o todo, o Ednilton Lampio, que j desencarnou.
relevante que essa expresso tenha sido cunhada pelo M. Mario Piacentini, um mestre de So Paulo, que inclusive foi pastor protestante antes de conhecer a UDV. Assim, fiz em minhas entrevistas a pergunta: Alguns chamam a Unio do Vegetal de a religio do sentir. Voc considera esta uma expresso apropriada? Aproximadamente dois teros dos 50 entrevistados responderam afirmativamente a questo. Os demais matizaram a sua resposta, dizendo que sim, em termos. E somente trs pessoas consideraram que no, vendo essa afirmao apenas como uma frase achada, um slogan106. Segundo Augusto, arquiteto, na faixa dos 30 anos de idade, pertencente ao Corpo Instrutivo, os conhecimentos que a gente tem na burracheira vm de uma forma direta. como se o conhecimento fosse uma esfera, o sentimento e a intuio formam o volume dessa esfera. o poder que a burracheira te d do conhecimento direto pelo corao.107 Tambm a Conselheira Lusa usou uma imagem geomtrica, que citamos acima: as duas colunas, do conhecimento e do sentimento, sobre as quais repousa a trave do crer. Essas duas colunas, encimadas pela trave da f, formam um arco, figura um tanto recorrente no imaginrio da Unio do Vegetal. Mais adiante, voltarei a pensar no simbolismo dessa figura. Por ora, basta ter presente a idia do arco como vnculo de unio entre duas realidades, no caso, o conhecer e o sentir. Quanto queles que discordaram da afirmao da UDV como religio do sentir,
Cleide, profissional da rea de msica, na faixa dos 40 anos, afirma que no Santo Daime o
ritual mais voltado para o sentir que na UDV: o bailado no d muito espao pra gente pensar. Na Unio do Vegetal tem um espao pro mental bem grande. Durante a sesso, o exerccio mental.108 Antnio, tambm na faixa dos 40 anos, participante da UDV h 21 anos, do Corpo Instrutivo, diante da pergunta meneou a cabea e disse: Valorizo cada vez
Entrevista do Conselheiro Waldir, em So Paulo, 22 de outubro de 1998. Designer, na faixa dos 70 anos. Para ele, a UDV a religio da conscincia. Vide declarao semelhante da Conselheira Ldia, p. 108. 107 Entrevista de Augusto, em Campinas, 19 de outubro de 1998. 108 Entrevista de Cleide, em Campinas, 9 de novembro de 1998.
106
118
mais o meu lado racional. Na burracheira tem esse sentir, mas tem o pensar tambm. H a coisa de estudar, isso mais do que o sentir.109 J Cludia, terapeuta, na faixa dos 50 anos, afirmou:
na minha vivncia a religio do sentir. Quase tudo o sentir. Inclusive eu no tenho raciocnio linear, eu sinto uma coisa e sinto outra e liga outra e puff, salta outra... como se fosse uma grande mandala que se vai configurando e de repente, ploff! Tudo encaixou! E uma coisa que se integra num sentido maior, pra eu entender algumas coisas, e a vem aquela sensao de paz, de bem-estar. Tem o raciocnio linear e tem o rizomtico, como rizomas, o meu funciona assim: vem uma coisa e tuc-tuc-tuc, de repente tuff, faz uma configurao... e eu integrei uma idia. De repente comea a juntar uma fala do Daniel [Mestre Representante] com uma sensao que eu tive e pluff integrei em uma outra coisa. Eu funciono assim e na minha vida funciona assim, cada vez mais. Ou seja, j no me preocupo muito pela linearidade, sabe?110
Por estas palavras, pode-se ver que para Cludia, esse sentir no se refere apenas ao plano das emoes, mas abrange tambm um exerccio do pensamento de um modo distinto do raciocnio lgico, um pensar rizomtico, no qual se do insights em srie, que conduzem a uma integrao e a uma sensao de paz. Tudo isto parece se assemelhar sinttica resposta da Conselheira Ldia, na faixa dos 40 anos, professora: a Unio do Vegetal a religio da descoberta da conscincia a partir do sentir111. Aqui voltamos a um aspecto j apontado por Afrnio de Andrade na citao que fiz acima, a conscincia, que mais uma categoria nativa extremamente relevante na UDV.
Conscincia
No incio das sesses, a palavra conscincia ouvida reiteradas vezes, na leitura das leis da UDV. Depois da leitura do Regimento Interno, so lidos vrios documentos denominados Boletim da Conscincia, j que quando se fizer necessrio, ser publicado e divulgado pela Administrao Geral o Boletim da Conscincia, com instrues a serem observadas no mbito do Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal112. Assim, lido o
109 110
Entrevista de Antnio, em Campinas, 7 de setembro de 1998. Entrevista de Cludia, em Campinas, 16 de outubro de 1998. 111 Entrevista de Ldia, em Campinas, 28 de outubro de 1998. 112 Artigo 20, Captulo V do Regimento Interno do CEBUDV. CENTRO ESPRITA BENEFICENTE UNIO DO VEGETAL, 1994, p. 95).
119
Boletim da Conscincia (BC), o BC em Administrao, o BC Conservando a Tranqilidade dos Filiados do Centro, o BC em Cumprimento da Lei, o BC em Defesa da Fidelidade e Harmonia dos Filiados do Centro, o BC em Firmeza, o BC em Organizao, o BC Recomendando o Fiel Cumprimento da Lei, o BC em Reforma, o BC Recomendando a Preservao da Moral e da Famlia. Deste modo, pode-se inferir que a palavra conscincia compreendida e utilizada em sua conotao moral, como faculdade de estabelecer julgamentos morais dos atos realizados. Portanto, esta categoria liga a esfera do conhecimento esfera da prxis, solicitando do discpulo que a sua vivncia espiritual se reflita em um agir segundo os princpios ticos da UDV. No discurso dos participantes do Ncleo Alto das Cordilheiras, pude perceber na grande maioria um esforo em afirmar a repercusso de sua pertena UDV em sua vida diria, tecendo-se muitas vezes um relato de converso que compara aspectos constrastantes do agir da pessoa, antes e depois de entrar para a Unio do Vegetal. Se no relato de alguns tais mudanas so mais explcitas, como a superao de vcios, para outros so pequenas mudanas de atitude detectadas na vida quotidiana, como por exemplo, na narrativa da Conselheira Lusa:
As pessoas falam no meu trabalho que eu sou meio diferente das outras pessoas. Eu j perguntei, por qu? Parece que eu presto mais ateno nas coisas que to acontecendo e levo em considerao aspectos que as pessoas no to enxergando. Procurei saber melhor o que era isso, vrias pessoas j tinham me falado isso, mas no coonsegui ainda descobrir no. Mas acho que tem um jeito diferente de enxergar as pessoas. Por exemplo, eu sou psicloga e numa poca convivi com uma pessoa, assistente social, que trabalhava junto comigo. No prprio trabalho, ela falava muita coisa pra mim de casos que a gente tinha em conjunto. E ela era a rainha do detalhe. Ento ela era uma pessoa famosa, como uma das pessoas mais chatas que as pessoas conhecem! Certo? A, vi que a minha relao com ela um tempo comeou a ficar difcil, eu tava meio irritada. Da, numa sesso me veio essa assistente social, me veio uma dimenso dela e parecia que ela era muito prxima, parecia at que era minha parente. Da eu passei a conviver com ela de uma maneira diferente. Eu fiquei estudando como que funcionava a cabea dela, como que ela era... Ento ela deixou de me irritar. Quando ela falava e ia longe, contava dez vezes o mesmo caso. Ento na dcima vez que ela contava o mesmo caso eu perguntava: Por que que voc t contando outra vez? Eu ficava de observadora da situao. E foi uma coisa que me auxiliou bastante na convivncia. Eu consegui ter um apreo por ela, gostar dela, uma coisa que me fez bem, fez bem pra ela. As pessoas geralmente no davam a mnima
120
ateno pra ela, fugiam dela. Uma coisa que eu aprendi e foi assim com o Vegetal. Coisas que eu aprendo no Vegetal, que mexeram com a minha emoo, em termos de ter mais pacincia, mais tolerncia com o outro... Ficar de observadora e aprender do comportamento da pessoa: Gente assim! Ento fiquei assim, meio cientfica. Foi jia! Convivi quatro anos com ela... Uma construo em termos de relao, que o Vegetal me deu de presente.113
Esse relato de Lusa parece-me paradigmtico da interrelao apontada no discurso desses hoasqueiros urbanos entre a experincia com o ch Hoasca e a vida quotidiana. No me seria possvel observar prolongadamente o dia-a-dia dos participantes do Ncleo Alto das Cordilheiras, para constatar o tanto que eles colocam em prtica ou no os princpios ticos da Unio do Vegetal; e nem caberia a mim formular um juzo a esse respeito. No entanto, significativo que o discurso da maioria seja recheado de abundantes links entre a vivncia religiosa e ritual e a vida diria.
Memria
Relacionado com o conhecimento est o tema da memria. Dentro da cosmoviso reencarnacionista da Unio do Vegetal, a memria tem papel significativo, na medida em que o processo de conhecimento um processo de recordao. Assim, Jos Gabriel da Costa um recordado, algum que chegou a se recordar de suas encarnaes passadas e Mestre que ensina a recordar. Assim, na UDV se fala de grau de memria. O Boletim da Conscincia em Reforma afirma que os discpulos que seguirem a Sesso Instrutiva s podero ser escolhidos pelo Mestre Representante, de acordo com os graus de memria114. O grau de memria relativo capacidade de compreenso dos ensinos espirituais. Mas no apenas isto, tambm algo que se infere a partir da prtica da pessoa. como que ter a cada momento na memria a necessidade da prtica fiel do bem - expresso criada por Mestre Gabriel e constantemente utilizada na UDV.
113 114
Entrevista da Conselheira Lusa, em Campinas, 20 de outubro de 1998. Psicloga, na faixa dos 50 anos. Boletim da Conscincia em Reforma. (CENTRO ESPRITA BENEFICENTE UNIO DO VEGETAL, 1994, p. 71).
121
Perguntado a respeito da repercusso de sua vivncia religiosa em sua vida prtica, Mestre Paulo disse:
O aspecto da viso da vida, que voc tenha um princpio reencarnacionista acreditar na reencarnao uma coisa que no fcil. No nem um pouco bvio, no . No do ponto de vista da experincia individual. Eu tenho a experincia de agora, minha referncia esta. Ento no acho assim instantneo nem fcil acreditar na reencarnao. Mas uma coisa que eu tenho hoje motivos suficientes pra ter isso como uma referncia na minha vida. Isso muda a forma de ver as coisas. Eu no considero assim, no acho que chega no ponto de cair num fatalismo crmico: o mundo assim mesmo, eu t aqui passando por coisas que so o resultado.... O fato de que na Unio do Vegetal muito interessante que a responsabilidade maior nesta encarnao. Segundo a palavra do Mestre Gabriel, muito pouco passa de uma encarnao para outra. Isso uma coisa que muito diferente de uma viso de carma, de que tudo agora uma conseqncia diretamente de todo o passado. No exatamente assim que colocado na Unio do Vegetal. O enfoque da Unio do Vegetal. Existe, claro, o que vem antes, a sua histria, a memria, o passado. Mas o seu processo de recordao tem que comear por esta encarnao, pra voc chegar nas outras. um aspecto reencarnacionista mas que no coloca a responsabilidade no passado. A responsabilidade continua aqui. O foco esta encarnao. O responsvel por 99% do que te acontece o que voc t fazendo, no o que voc j fez em vidas anteriores. um reencarnacionismo temperado com esse enfoque na responsabilidade presente. Tanto que, embora a gente saiba que tem a possibilidade de recordao na Unio do Vegetal e tal, no necessariamente como as pessoas que ficam buscando na burracheira se lembrar o que eram em vidas anteriores. No bem por a que a coisa funciona. Importa muito mais o que a gente hoje, como a gente agora e como a gente pode ser pra frente. No to importante assim saber se o que eu sou agora fruto desta encarnao ou de outra, mas o que eu t fazendo agora, a conseqncia eu t vivendo essa conseqncia, eu t colhendo essa conseqncia. Vamos dizer, o foco esta encarnao. Isso d uma viso que eu acho mais equilibrada, do mundo, das coisas, do que seja a justia. A questo do enfoque no presente. No explicar as coisas pelas outras encarnaes. Isso chega a ser quase uma pretenso. Porque voc tem que ter um nvel de desenvolvimento espiritual considervel pra conseguir ter essa percepo. Uma das coisas que a gente aprende no ser supersticioso. Teve uma poca, h muitos anos a, que tinha um pessoal em So Paulo que tava com uma moda
122
de recordar. A acho que foi o Mestre Braga que falou: eu acho que vou pro Sul, vou pra So Paulo, beber o Vegetal l, porque o pessoal t recordando, eu vou pra l 115.
Essa ironia atribuda ao ex-Mestre Geral Representante mostra a reao de uma pessoa com muitos anos de experincia na UDV, algum do Norte, diante de novatos do Sul que logo se acharam em condies de recordar suas encarnaes passadas. No entanto, ainda que se enfatize a dificuldade de acessar essa memria, tal recordao permanece para os discpulos da UDV como um ideal a ser atingido. Mas, desde j, nas sesses os discpulos so chamados a exercitar a memria principalmente atravs de uma vivncia tica quotidiana.
Ordem
O Boletim da Conscincia Recomendando o Fiel Cumprimento da Lei diz: S
atravs da ordem e da doutrinao reta, que receberemos eternamente dentro da Unio do Vegetal, que chegaremos cientificao116. A ordem um valor extremamente prezado
pela UDV. A comear pelo ritual, simples mas com alguns detalhes bem frisados, que transmitem uma noo de preciso. Em meio ao tempo de burracheira aquele que dirige a sesso deve estar atento seqncia das chamadas, dos assuntos, das perguntas e msicas, de modo que tudo transcorra em sintonia. O espao ritual austero: paredes nuas, com apenas a foto de Mestre Gabriel. E sobre a mesa, um arco de madeira pintado de verde com os dizeres: Estrela Divina Universal UDV. Em constraste com o Santo Daime, onde nos dias de trabalho de hinrio h o bailado, a postura corporal de quem participa da sesso simplesmente sentada. Para sair do salo necessrio pedir licena ao Mestre Dirigente da sesso. Do mesmo modo para fazer uma chamada ou para falar e perguntar. E ao falar, temse de prestar ateno s palavras utilizadas, para que no se pronuncie alguma inadequada. H certas frmulas fixas que costumam ser usadas pelas pessoas em suas falas. Ao terminar sua fala, comum dizer: que a sesso prossiga nesse clima de luz, paz e amor, ou ento, que a sesso prossiga em harmonia. Dada a fora que atribuda palavra, o seu uso ordenado pr-condio para a ordem e a harmonia durante a sesso.
115 116
Entrevista do Mestre Paulo, em Campinas, 16 de outubro de 1998. Boletim da Conscincia Recomendando o Fiel Cumprimento da Lei. (CENTRO ESPRITA BENEFICENTE UNIO DO VEGETAL, 1994, p. 69).
123
A ordem tambm enfatizada no ritual pelo acento dado hierarquia dos participantes. No incio o ch servido pelo Mestre Dirigente para si mesmo e para o Representante, para os demais mestres, para os(as) conselheiros(as), para os(as) discpulos(as) do Corpo Instrutivo e, finalmente, para os demais. O uso do uniforme, com os diferentes distintivos, prprios a cada grau, marca a importncia da hierarquia. As chamadas, com a sua sucesso precisa de versos que se repetem com ligeiras modificaes, como que numa escala ascendente, e que devem ser memorizadas fielmente por aquele que quiser faz-las, expressam a presena de uma ordem objetiva, exterior e maior, que ultrapassa a subjetividade dos participantes, ainda que interaja com ela. como se a cada momento fosse transmitida a mensagem da existncia de um cosmos ordenado, que precede e sustenta a experincia individual, emanado da prpria Fora Superior. Assim, na austeridade do espao, na ateno s palavras, no exerccio de perguntar e responder, nas chamadas, enfim, em cada aspecto do ritual, transparece uma ordem apolnea que proposta como modelo exemplar a ser vivido pelo discpulo em sua vida diria. A relao entre a ordem no ritual e a vida prtica foi abordada detidamente na entrevista de Felipe, membro do Corpo Instrutivo, h 15 anos na UDV, administrador de construes e msico:
O prprio ritual expresso dessa ordem. Esse ritual vai incorporando na vida pessoal. Se pelos menos duas vezes por ms ele estabelece que naquele momento ele vai se comportar de acordo com as normas daquele lugar, reconhece que aquela ordem importante [...], ento isso a estabelece como um sinal na vida pessoal dele, ento a pessoa naturalmente vai se organizando nas outras coisas. Ento, o que que um ambiente de trabalho? um ambiente de concentrao. A mesma concentrao que a gente tem e procura ter em tempo de burracheira, procura ter no trabalho. Procurar ter uma disciplina, procurar se organizar, procurar ter uma relao com a coisa funcional como se tivesse dentro de uma sesso tambm, procurar ter cuidado com as palavras, ter cuidado com o seu passo... Eu no vejo como uma regra essa atitude das pessoas. Pra mim foi assim. Pra mim facilita. Pra mim no muito diferente eu sentar, ficar aqui, trabalhando no computador e ficar dentro da sesso, no muito diferente. Nesse plano da organizao. A religio mesmo tem um sentido de organizao. O ritual religioso uma forma de organizar atravs de uma dramatizao, atravs dos smbolos, o comportamento da pessoa. Ento propicia a pessoa estar se organizando na vida funcional, a pessoa estar
124
presente nas suas atribuies de responsabilidade, nas coisas que tem que fazer, no seu lugar como pai, seu lugar dentro de uma casa, seu lugar de trabalho, perante as pessoas, perante sua palavra, no ? Agora, eu vejo que tem uma coisa na Unio do Vegetal, quando falo Unio do Vegetal a instituio, so as pessoas, a maneira como as pessoas fazem o que tem na mo. Com relao a essa questo da espiritualidade, pra mim s vezes me soa assim no plano mais do ideal do que do real. Uma espiritualidade mas que a pessoa idealiza. Uma pessoa acha, por exemplo, que fazendo uma chamada pode ficar isento de qualquer coisa negativa que possa acontecer com ele. E na realidade, se ele no tiver cuidado, o principal o cuidado, a ateno. No adianta fazer chamada se ele no tem cuidado. Ento religio tem isso, s vezes a pessoa acredita que exercendo determinado ritual, ou indo pra sesso, ou ficar bem comportado na sesso, por ir trabalhar quando solicitado, obedecendo o que as pessoas pedem, porque a hierarquia tem l suas determinaes, que a pessoa vai evoluir na vida, vai conquistar as coisas positivas, as coisas que precisa, dinheiro, afetividade, confiana. Ento um perigo tambm que existe, n? Ento eu acho que tem muita gente encalhada na Unio do Vegetal. No s na Unio, na religiosidade em si, ela tem esse perigo, porque no estabelece um vnculo muito forte com a vida prtica. [...] A ordem material a base de todo o processo.117
Peia
Mas nem tudo harmonia nesse universo. As pessoas, individualmente, e por vezes o grupo reunido numa sesso so vez por outra envolvidos por uma onda de dificuldades denominada peia. A experincia da peia pode ser extremamente intensa: um profundo mal-estar fsico aps a ingesto do ch, caracterizado por nuseas, vmitos, vertigens. Certas vezes, esse mal-estar no somente fsico: a pessoa pode sentir-se interiormente oprimida pelo remorso, pelo medo ou pela culpa, ou ento se encontrar assombrada diante de vises temerosas, perturbadoras. O conjunto de sensaes sugere, s vezes, a quem as vivencia, que se est chegando ao limiar da morte. A propsito, o Mestre Gabriel teria dito: Vocs sabem pra que que a gente bebe esse ch? pra aprender a morrer! Por outro lado, ele tranqilizava os seus discpulos, garantindo que ningum morre de burracheira. Luiz Eduardo Soares observa, numa breve descrio de paisagens mentais, a partir de sua experincia ao beber a Hoasca: A viagem suficientemente intensa, imprevisvel e
117
Entrevista com Felipe, na faixa dos 40 anos, em Campinas, 27 de outubro de 1998
125
incontrolvel (pelo menos para os nefitos), para representar uma aposta de alto risco. Cada um daqueles homens e mulheres sabia disso. O pasto daquele rebanho a morte, Nem mais, nem menos. (SOARES, 1994, p. 226). Toda essa provao fsica, psquica e espirital costuma ser interpretada pelos discpulos como pagamento por alguma conduta moral errnea. Assim, a peia compreendida dentro de uma viso que afirma que o ser humano recebe na vida o que merece, segundo os atos que praticou. O merecimento um dos pilares da doutrina da UDV. Essa compreenso da peia aparece bem clara na narrativa de Gustavo, do Corpo Instrutivo, na faixa dos 40 anos:
Depois de uns 5, 6 meses [de que havia comeado a beber o ch] eu comecei a tomar umas peias daquelas que eu no conseguia beber o Vegetal. Bebia e vomitava e parei. Encanei que tinha tido taquicardia numa sesso, que tava passando mal, vomitei 18 vezes... [risos]. Mas era porque j tava comeando a fazer efeito coisas assim: tava tendo conscincia, mas no dia a dia eu, n? Eu no conseguia manter, voltava ao dia a dia. A fiquei mais ou menos uns 6 meses sem beber. At que um dia eu resolvi conversar com o Mestre Ney, a eu coloquei algumas coisas que eu tava sentindo, sentindo na burracheira, umas revoltas e tal com a injustia e a ele me deu uns conselhos, falou pra eu voltar, comear a beber aos poucos e eu fui voltando.118
Desse modo, a teodicia da Unio do Vegetal aproxima-se muito do tipo ideal de soluo para o problema da teodicia presente na crena na transmigrao das almas, apontado por Weber em sua Sociologia da Religio (WEBER, 1974, p. 412-417), e assim resumido por Colin Campbell:
the Indian doctrine of karma, [...] the most complete formal solution of the problem of theodicy, since the world is regarded as a completely connected and self-contained cosmos of ethical retribution in which each individual forges his own destiny, with guilt and merit in this world unfainlingly compensated for in the succeeding incarnation (CAMPBELL, 1997, p. 106).
Como ele observa na seqncia, os trs tipos ideais de soluo expostos por Weber - o escatolgico messinico, o dualista do zoroastrismo e o crmico hindusta - no do conta de abranger certas tradies de pensamento. E assim, Campbell apresenta mais um tipo de teodicia, que a teologia filosfica do otimismo do sculo XVIII. Suponho que a teodicia
118
Entrevista de Gustavo, em Campinas, 7 de setembro de 1998.
126
da UDV tem tambm elementos desse outro tipo ideal, na medida em que seu reencarnacionismo distancia-se do hindusta, o qual no necessariamente ascendente na seqncia de encarnaes, e se aproxima mais da viso kardecista, a qual traz em seu bojo a expectativa, prpria do sculo XIX (enraizada no sculo anterior), de contnua superao de limites pela irresistvel evoluo da humanidade. Assim, o reencarnacionismo da UDV tem um carter evolucionista e otimista. E a peia encarada como um momento necessrio desse processo de purificao, que conduz salvao. Essa viso, de um aspecto
pedaggico na peia, pode ser observada nas declaraes de Gustavo - ele compreendeu que
j comeava a ter conscincia de seus erros nas sesses mas no estava praticando as transformaes necessrias em seu cotidiano. E assim a peia teve o papel de um lembrete educativo. Mesmo sendo extremamente desagradvel, a peia uma vivncia de emoes muito fortes, que nos faz lembrar a observao de Campbell, de que one could say that the Puritans, or those who inherited their mentality, had become addicted to the stimulation of powerful emotions [...] (Id., 134). A peia uma tempestade de emoes, uma experincia que se vive na mente e nas entranhas, sendo todo o ser sacudido pelo temporal de burracheira. Ainda que extremamente penosa, ela pode ter at mesmo um certo encanto para aqueles que buscam os sentimentos intensos, ou at mesmo o prazer da vertigem do perigo. A burracheira pode ser inscrita no quarto tipo de jogo definido por Roger Caillois: a vertigem ou ilinx (CAILLOIS, 1967, p. 169-172). O autor identifica esse tipo de jogo como une tentative de dtruire pour un instant la stabilit de la perception et dinfliger la conscience lucide une sorte de panique voluptueuse. (Id., p. 169). E Caillois cita o exemplo dos derviches giradores sufis, que buscam o xtase rodando sobre si mesmos. Ora, essa busca do xtase, da vertigem, da queda ou da projeo no espao, nos faz lembrar a vertigem provocada pelo uso da Hoasca. A burracheira, a fora estranha do vegetal, pode se apresentar tambm como jogo de vertigem. Quanto a este, Caillois detecta como suas indubitveis caractersticas ldicas: libert daccepter ou de refuser lpreuve, limites strictes et immuables, sparation davec le reste de la ralit (Id., p.172). O efeito da Hoasca sempre surpreendente: antes do incio da sesso no se pode dizer se ser assustador ou maravilhoso. Essa imprevisibilidade da burracheira dota o ritual da UDV de um carter acentuadamente ldico. Em oposio a outros rituais, perfeitamente previsveis e repetveis, cada sesso da Unio do Vegetal nica e cada burracheira imprevisvel.
127
Por sua vez, Fernando de la Rocque Couto, em sua dissertao de Mestrado em Antropologia acerca do Santo Daime, ao estudar fenmeno semelhante peia da UDV, considera que esse processo catrtico e psicoterpico, a exemplo da viso de LviStrauss acerca da cura xamnica (LVI-STRAUSS, 1975, p. 209), a qual teria na ab-reao o seu momento decisivo:
Para pedir o perdo, o doente deve trazer conscincia lembranas emocionais e/ou traumatizantes que se encontravam reprimidas. Para que isso se observe, ele tem que sair do conflito e resolver as suas contradies internas. Em termos psicanalticos, ele tem que ab-reagir, vivendo e revivendo intensamente a situao inicial que est na origem da sua perturbao, para poder super-la definitivamente. (COUTO, 1989, p. 179).
J Luiz Eduardo Soares, v a
peia como ocasio de libertao da hybris,
superao da desmedida do eu que se colocara como centro do universo. A impetuosidade do temporal desaloja esse eu dos pncaros do orgulho e o lana nas plancies da humildade, virtude muitas vezes louvada na Unio do Vegetal:
O ch sagrado do Daime, o vegetal santo da UDV, assim como outros recursos religiosos, psicolgicos, culturais, ritualizados mundo afora, instruem-nos, rpida e eficientemente, que a hybris o pecado original. Como nos ensinara a tradio Judaico-crist. [...] o que deduzo de minha prpria sensao: afinal, se eu podia, sem recorrer linguagem religiosa e sem experimentar o xtase mstico, vislumbrar a finitude trada pela fetichizao do ego; o que no pensariam, da hybris, os msticos, encantados pela emoo do ultrapassamento? A deduo confirma-se por depoimentos. (SOARES, 1994, p. 229).
A peia, essa vivncia complexa, que pode ser lida como fruto da lei do merecimento, catarse teraputica, ensinamento e caminho para a humildade, , com certeza, uma experincia emocional intensa que vivida (ou padecida) numa perspectiva otimista. Proponho que nos fixemos nestes dois aspectos intensidade de sentimentos e otimismo e passemos a compar-los com outra vivncia nuclear da Unio do Vegetal: as miraes.
Miraes
Se um membro da UDV sabe que est sujeito a ter de enfrentar uma peia, por outro lado, sabe tambm que possvel que a sesso prossiga plena de luz, paz e amor, como dito freqentemente pelos discpulos na concluso de suas falas durante as sesses.
128
As miraes119 de uma sesso tranqila podem ser grandemente prazeirosas. Esse sentimento de beatitude, em harmonia com todo o universo, freqentemente reiterado nas declaraes dos participantes acerca de suas vivncias na burracheira. O Prof. Benny Shanon, da Hebrew University de Jerusalm, vem fazendo uma pesquisa, a partir de sua rea de estudos, que a psicologia cognitiva, acerca do contedo das vises, das miraes durante o efeito da Hoasca. No I Congresso sobre o Uso Ritual da Ayahuasca, na Unicamp, ao apresentar algumas das observaes a respeito de sua pesquisa ainda em curso, apontou para a relevncia do prazer como motivao entre os participantes dos grupos religiosos usurios da Hoasca. Lembrou que Reichel-Dolmatoff afirmou que nunca se bebe o ch por prazer mas que, segundo as suas entrevistas, se h pessoas que bebem a Hoasca em busca de uma sabedoria escondida, h outras que respondem pergunta sobre suas motivaes dizendo: to belo!
Roberto, o jovem de quem citamos uma declarao acima, contou-me uma mirao
marcante que teve:
O Mestre apareceu pra mim, na casa dele, sentado de ccoras. Essa foi marcante. De repente ele falou: olha, aqui minha casa. De repente eu vi uma casa de madeira, amarrada com corda e sap, assim, que ficava no alto de um morro; atrs da casa dele tinha a floresta e na frente tinha uma vista que dava pra voc enxergar todas as coisas: desde o mar, as pirmides e... tudo o que tinha na terra assim, sabe? De repente, voc ollhava um golfinho l no mar, l longe, assim, s que voc conseguia enxergar o olho do golfinho. Ento, de repente era uma questo assim que voc enxergava tudo assim... E ele me falou pra mim assim: Ah, aqui da minha casa d pra ver todas as belezas da terra! E era uma casa bem legal assim, sabe? E eu falei: P, que legal! E ele deu uns toques pra mim. [...] Ento isso a uma das coisas bem marcadas na minha mente, a casa do Mestre Gabriel que dava pra ver todas as belezas da terra, ele sentado de ccoras. E depois meu pai me fala que ele realmente ficava sempre tradicionalmente sentado de ccoras e eu no sabia disso.120
bem significativo que, na mirao de Roberto, da casa de Mestre Gabriel se pudesse ver todas as belezas da terra. Essa dimenso esttica, da beleza que se apresenta inesperadamente, como um dom, muitas vezes me foi narrada pelas pessoas que entrevistei.
119
As miraes, experincias visuais internas sob o efeito da Hoasca, podem ser de contedo negativo em momentos de peia. No entanto, quando me refiro a miraes aqui, tenho em vista as agradveis, elegendo-as como um tipo ideal em contraste com a peia. 120 Entrevista de Roberto, em Campinas, 26 de outubro de 1998.
129
A relevncia da dimenso esttica na experincia simblica dos discpulos da UDV, na qual a visualidade tem uma significativa importncia, levou-me a buscar apresentar nesta dissertao algumas obras de artistas plsticos do Ncleo Alto das Cordilheiras. A beleza pode estar relacionada a outras percepes, no somente as visuais. Alm das chamadas, faz parte do ritual da UDV a audio de msicas durante as sesses. Esse costume vem do tempo do Mestre Gabriel, que autorizou os primeiros discpulos de Manaus a colocarem discos a tocar nas sesses. A razo da introduo da msica, segundo o Mestre Geraldo Carvalho, um discpulo dos primeiros tempos da UDV em Manaus, que presenciou a primeira vez em que se escutou msica numa sesso121, a beleza da miraes que ela propicia. Atualmente, faz parte do ritual da UDV a audio de msica instrumental no incio das sesses, no estilo New Age, andina ou clssica. Na seqncia da sesso, so ouvidas canes da Msica Popular Brasileira, com letra, cuidadosamente escolhidas, de acordo com o assunto abordado pelo mestre dirigente. So freqentes as que tocam temas ligados natureza, amizade e outras virtudes enfatizadas pela doutrina. interessante perceber, sobretudo, a importncia do sentimento esttico nessa valorizao ritual de msicas que no foram compostas para uma utilizao sacra. Esse papel importante da msica no ritual alm das chamadas, que conduzem toda a experincia da burracheira mostra-nos que a mirao no simplesmente uma seqncia de vises: uma vivncia sinestsica, que toca a sensibilidade dos participantes da sesso em dimenses estticas e afetivo-sentimentais. Tal experincia totalizante, que alm da viso e da audio pode mobilizar tambm os sentidos do tato, do olfato e do paladar, impressiona fortemente quem a vivencia, motivando uma prazeirosa intensidade
de sentimentos. Assim como o sonho para os romnticos, as miraes tm para o discpulo
da Unio um carter revelatrio, j que um insight into the real nature of the world can only be gained through powerful emotional and imaginative experience of an essentially aesthetic character. [...] Romantics placed such importance on dreams whether of the day or night variety seeing them as essentially revelatory experiences. (CAMPBELL, 1992, p. 186). Tambm no que toca s miraes podemos encontrar bem presente o trao do otimismo. A burracheira quando plena de luz cria uma atmosfera de encantamento, de
DA RS, Mrcio. A origem da msica nas sesses da UDV. Jornal Alto Falante. Braslia: agosetout 95, p. 11.
121
130
harmonia, de sintonia entre os irmos, que propicia um enfoque otimista de todas as coisas.
Evoluo Espiritual
De acordo com o artigo 1o do Regimento Interno, lido em todas as sesses de escala, o CEBUDV tem por objetivos: a) trabalhar pela evoluo do ser humano no sentido de seu desenvolvimento espiritual; b) reunir-se socialmente em seu Templo esprita e extraordinariamente a critrio do Mestre.122 Essas palavras iniciais como que fundamentam a existncia da UDV sobre uma viso de evoluo espiritual. E constantemente, em palavras dos scios durante as sesses h alguma referncia evoluo, no sentido de que ns estamos aqui - na Terra e nesta religio - para evoluir espiritualmente.
Denise, do Corpo Instrutivo, analista de sistemas, na faixa dos 20 anos, perguntada
se h alguma repercusso da sua vivncia religiosa na UDV em sua vida prtica, responde:
Com certeza tem. No geral, eu sinto que ela traz mais direo, traz mais equilbrio, principalmente, s o fato de voc ter um objetivo, que a evoluo espiritual, isso j modifica totalmente a sua vida. Porque uma coisa voc viver com objetivo e outra coisa viver sem orientao, n? Ento quando voc vive com objetivo, voc consegue trilhar mais a sua vida, consegue organizar mais a sua vida, isso faz com que as coisas aconteam de uma maneira mais ordenada. Principalmente o fato de ter um objetivo na vida, j muda a sua vida totalmente.123
Esse enfoque teleolgico est presente no discurso de muitos discpulos da UDV. Compartilha da mesma provncia semntica a nfase da doutrina em temas como a retido, a firmeza no pensamento, a simplicidade. como se predominasse uma imagem da vida como linha reta, no fim da qual h uma meta bem definida, a qual importa conhecer e ter diante dos olhos, para alcan-la mais rapidamente. Nesse aspecto, h toda uma tendncia busca da eficcia, que encaixa bem com a modernidade. E certamente, um elemento valorizado por muitos dos participantes urbanos da Unio do Vegetal.
Regimento Interno do CEBUDV, artigo 1o. CENTRO ESPRITA BENEFICENTE UNIO DO VEGETAL, 1994, p. 92. 123 Entrevista de Denise, em Campinas, 7 de setembro de 1998.
122
131
O Arco: portal para o Alto
Neste momento, tratarei de um elemento que no aparece muito enquanto termo nativo, palavra pronunciada pelos discpulos, mas sim enquanto imagem, esta sim um tanto recorrente na Unio do Vegetal: o Arco, o qual citei ao falar da ordem no ritual. Ele est presente, de modo bem visvel, no espao ritual, no Salo do Vegetal, onde marca o lugar sagrado por excelncia, na cabeceira da mesa, onde fica o filtro de vidro que contm a Hoasca, e onde se posta o Mestre Dirigente da sesso, que durante a sesso est no lugar do Mestre Gabriel. Por ser verde, pintado com os dizeres: Estrela Divina Universal UDV e com duas estrelas maiores e vrias pequenas estrelas amarelas, o arco realmente chama muito a ateno. E na parede atrs dele, h mais um elemento de suma importncia no espao ritual: a foto de Mestre Gabriel124... sob um arco. Tambm a Conselheira Lusa usou a imagem da mesma figura, como j citei acima: as duas colunas, do conhecimento e do sentimento, sobre as quais repousa a trave do crer, formando um arco125. Observando-se as pinturas de Ernesto Boccara e Spencer Pupo Nogueira, freqente deparar-se com algum arco. O carto comemorativo dos sete anos do Ncleo Alto das Cordilheiras apresenta a foto de um arco126, da Casa de Preparo em construo, tendo ao fundo um cu colorido pela aurora. O arco um smbolo de ligao entre o cu e a terra, como o arco-ris na narrativa do Gnesis127. O prprio mariri, o cip, pode ser visto como uma corda a ligar terra e cu. Observa-se que na sesso da Unio do Vegetal h uma acentuada valorizao da ligao: existe o momento de ligao da burracheira, quando o Mestre Dirigente vai perguntando a cada participante se este tem burracheira e luz, h tambm uma presena acentuada do substantivo ligao e do verbo ligar no discurso dos participantes durante as sesses: p. ex., fala-se da importncia de se estar ligado na Fora Superior. Aqui me aproximo da viso de Ramrez de Jara e Pinzn Castao que vem o xamanismo e especificamente o que utiliza os preparados de Banisteriopsis, como um sistema aberto que medeia categorias indgenas e categorias coloniais, sistema que
124 125 126 127
Vide a reproduo da foto, na p. 49 V. Entrevista da Conselheira Lusa, em Campinas, 20 de outubro de 1998. Vide a reproduo do carto, na p. 32 V. Gnesis, captulo 9, versculos 8-17.
132
incorpora as noes catlicas, assim como conhecimentos farmacuticos ocidentais s concepes religiosas indgenas e s suas tcnicas teraputicas. O prprio xam visto como um mediador entre o mundo sobrenatural e o mundo real (RAMREZ DE JARA, PINZN CASTAO, 1992. p. 287-303). E realmente, vivncia com a Hoasca tem um aspecto pronunciado de mediao. Esta pode ser melhor compreendida se observarmos o arco no apenas como elo de ligao, mas tambm como portal. O arco pode ser interpretado como imagem de um portal, atravs do qual o discpulo convidado a passar. Van Gennep j observara a
identidade da passagem atravs das diversas situaes sociais com a passagem material [...]. por isso que com tanta freqncia passar de uma idade, de uma classe, etc. a outra exprime-se ritualmente pela passagem por baixo de um prtico ou pela abertura de portas . (GENNEP, 1978, p. 159).
O prprio Mestre Gabriel chamado de porta, que aberta nos transporta. Temos aqui a noo de limiar, ao qual o discpulo se aproxima e, por vezes, chega a ultrapassar. Nos relatos de miraes, so freqentes as referncias a portais, arcos, soleiras. Isso me leva a inferir que a burracheira uma experincia acentuadamente liminar. Atinge-se um estado alterado de conscincia no qual a pessoa muitas vezes se sente presente em outro lugar, ou na soleira de outro lugar. Isso possibilita um contato com o aqui e o alm, o quotidiano e o estranho, o normal e o alterado. O prprio ritual enfatiza claramente as fronteiras do tempo de burracheira, a entrada e a sada em um tempo sagrado, qualitativamente distinto do dia a dia. Refletindo acerca da liminaridade nos ritos de passagem, Victor Turner observa que esta
implica que o alto no poderia ser alto sem que o baixo existisse, e quem est no alto deve experimentar o que significa estar em baixo. [...] para os indivduos ou para os grupos, a vida social um tipo de processo dialtico que abrange a experincia sucessiva do alto e do baixo, de communitas e estrutura, homogeneidade e diferenciao, igualdade e desigualdade. A passagem de uma situao mais baixa para outra mais alta feita atravs de um limbo de ausncias de status. Em tal processo, os opostos por assim dizer constituem-se uns aos outros e so mutuamente indispensveis. (TURNER, 1974, p. 119-120).
133
A burracheira muitas vezes sentida como esse limbo de ausncias que possibilita a quem a vivencia um contato com o alto e com o baixo, com uma vivncia de irmandade e com uma estrutura hierarquizada, com a mirao e com a peia. Luiz Eduardo Soares, ao narrar uma peia com o ch, aponta nessa direo, de uma articulao paradoxal do alto e do baixo:
O corao parecia encher-se de alegria e os olhos de um brilho imprprio, numa exaltao fraternidade descoberta sob andrajos, entre espasmos e prefiguraes da morte. [...] E h beleza nesse quadro, meu amigo. (SOARES, 1994, p. 230).
Para os discpulos, so mutuamente indispensveis a mirao e a peia. A humildade propiciada pela ltima fundamental para que o ultrapassamento oferecido pela primeira no leve hybris mas sim prtica fiel. E a burracheira o arco de ligao desses opostos. Portanto, as experincias de estado alterado de conscincia com o ch Hoasca so ocasies de se lidar com fronteiras, e o ch desempenha a um papel de mediador. Seja a mediao entre diferentes planos da realidade, seja a mediao entre universos culturais distintos. Precisamente este aspecto me faz levantar a proposta de ver a experincia religiosa da Unio do Vegetal como uma possibilidade de os participantes urbanos articularem dimenses de suas vidas e dimenses da viso de mundo da UDV que anteriormente eram experienciadas como cindidas, ou incomunicveis. Os dilemas do indivduo urbano moderno, assim como as oposies com as quais o ser humano se defronta: corpo-esprito, ditames do cu - ditames da terra, indivduo-comunidade, autoconhecimento - conhecimento de Deus, so de certo modo ligados, postos em relao na aguda e densa experincia da burracheira. Assim, o discpulo da Unio do Vegetal encontra, em seu caminho de busca da evoluo espiritual, a necessidade de transpor os arcos que se apresentam na vida e na burracheira. Ao ter coragem de cruzar o terreno desconhecido da liminaridade, ele d passos na articulao do que anteriormente estava cindido em sua vida, direcionando-se para a Unio. Ultrapassando os portais, ele tem esperana de alcanar o Alto das Cordilheiras.
134
3.3. O ENGLOBAMENTO NA FORA DA BURRACHEIRA
Agora, eu, eu sei como tudo : as coisas que acontecem, porque j estavam ficadas prontas, noutro ar [...] e com efeito tudo grtis quando sucede Joo Guimares Rosa, Grande Serto - Veredas
A reflexo sobre os eixos do discurso dos discpulos da Unio do Vegetal acerca de sua vivncia simblica levou-me a considerar a burracheira uma vivncia acentuadamente liminar, onde pode se dar uma experincia de mediao, atravs da qual o sujeito articula elementos de sua vida e da viso de mundo da UDV que anteriormente eram experienciados como cindidos. Abordando as concepes e representaes dos sujeitos concretos do Ncleo Alto das Cordilheiras em Campinas, foi possvel perceber como certos aspectos da vida desses participantes entram em interao com tais idias religiosas e so com elas articulados. Agora, inquiro a respeito da natureza dessa articulao. Poderia ela ser considerada um sincretismo? Ou este conceito no d conta dessa realidade? A presena na doutrina da Unio do Vegetal de traos que nitidamente esto presentes em outras tradies religiosas sugere a idia de sincretismo. Como j indiquei, esto presentes na UDV elementos do catolicismo popular, do espiritismo kardecista, do xamanismo amaznico e das religies afro-brasileiras. Sabemos que o conceito de sincretismo problemtico, e pode ser compreendido de diversas maneiras, algumas delas trazendo em seu bojo uma certa carga valorativa, expressando uma depreciao do sincrtico em relao ao puro, ou, inversamente, exaltando o sincretismo brasileiro como sinal de convivncia pacfica multicultural. No que toca experincia dos discpulos da UDV, faz-se necessrio um discernimento, dentre a diversidade de vivncias. Algumas certamente podem ser bem compreendidas sob o prisma da noo de sincretismo. Pode-se perceber no discurso de alguns participantes experincias de sobreposio de elementos heterclitos que muito se aproximam das trajetrias contemporneas daqueles que se reconhecem no Movimento Nova Era, no qual, segundo Leila Amaral Luz, se entrecruzam
135
os herdeiros da contracultura com suas propostas de comunidades alternativas; o discurso do auto-desenvolvimento na base das propostas teraputicas atradas por experincias msticas e filosofias holistas; os curiosos do oculto, informados pelos movimentos esotricos do sculo XIX; o discurso ecolgico de sacralizao da natureza e do encontro csmico do sujeito com sua essncia e a reinterpretao yuppie dessa espiritualidade centrada na perfeio interior. (LUZ, 1996, p. 57).
No entanto, em uma srie de outras narrativas de discpulos da UDV pude identificar experincias acerca das quais a categoria de sincretismo insuficiente para sua adequada compreenso. Exporei a seguir um relato que por sua densidade, me parece paradigmtico. o relato de Renato, na faixa dos 40 anos, do Quadro de Scios, mas que j pertenceu ao Quadro de Mestres, acerca de uma burracheira que vivenciou em um momento crtico de sua vida.
Saber reverenciar a presena de Deus, ter a gratido por estar vivo, faz com que eu me sinta feliz. Eu j passei por coisas muito difceis em minha vida e senti essa presena do Divino em momentos cruciais. Pra algumas pessoas no d nem pra explicar. Eu tive uma vez uma situao, quando a me de meus filhos tava grvida do primeiro filho, que ns perdemos, ela teve uma situao de eclampsia no incio do 6o ms. E foi um rebu, por que eu era do Corpo do Conselho e ela do Corpo Instrutivo, e a gente era um casal meio modelo, todo mundo achava uma gracinha, tudo bonitinho, tudo nos lugares, organizadinho, obedientezinho, aquela coisa assim bem padro. E tava tudo muito bem, todo mundo muito feliz com o nosso casamento, a nossa gestao. E a, de repente, logo depois de 22 de julho ela comeou a passar muito mal, uma coisa muito difcil e ela no desencarnou por causa do vegetal, com certeza. Foi uma situao muito difcil, foi marcado que ela tinha que fazer uma cesrea, tinha que fazer um aborto porque o nico jeito de salvar a me tirar a criana e a placenta. E eu bebi o vegetal, tava na sala de espera da maternidade 9 de Julho aqui em So Paulo, devia ter umas 40 pessoas da Unio do Vegetal l comigo, e eu bebi o vegetal, e fiquei sentado, com uma burracheira muito forte e ela l dentro fazendo o aborto, e a chance da criana nascer viva era mnima, era um beb no incio do sexto ms, no tinha a menor condio. Mas o Mestre Alberto [que mdico] deu pra ela uma tampa de vegetal [uma quantidade mnima, correspondente ao que caberia em uma tampa de garrafa], antes da cesrea, dentro da UTI, ela bebeu, tinha uma irm nossa que era enfermeira-chefe na maternidade, e eles ficaram com ela durante a
136
cesrea, ele de um lado e ela do outro, e o mdico, maravilhoso, era um esprita, uma pessoa muito bonita, ele fez a cesrea. A criana nasceu viva, por incrvel que possa parecer viveu 13 horas, e a Vera alm de no ter morrido no ficou com seqela nenhuma, ela no teve convulso, no teve leso renal, neurolgica ou heptica. E durante a cesrea eu tava assim numa situao muito forte e teve um momento que... Na casa de minha av ela tinha um quadro na sala com o Sagrado Corao de Jesus, um quadro grande. E na burracheira se apresentou aquela imagem daquele quadro e eu vi nitidamente o quadro, o rosto dele, as duas mos saindo dele, uma d uma recebe, e ele tem no centro do peito uma luz, que clareia assim por fora, e na frente dessa luz tem um corao, esse corao com uma coroa de espinhos passada em volta e umas gotinhas de sangue pingando, em cima do corao tem uma coroa com uma chama, uma coroazinha assim com uma chama, e em cima da chama tem uma cruz. E aquela imagem veio na minha frente na mirao, clarssima, como se eu tivesse em frente ao quadro e eu tive a compreenso de que o Criador o mesmo Salvador. O Criador cria a dor, pra qu? Pra gente se abrir pra ele e a ele traz o amor e a luz e salva a dor. Foi uma coisa assim... sabe? uma ddiva assim, um conhecimento que ele trouxe pra mim, que uma coisa assim inestimvel, entendeu? Uma coisa maravilhosa, por que eu via aquela imagem e entendia, tipo assim: esse sofrimento que voc t passando t te abrindo caminho e eu t entrando em voc; ento um blsamo aquela luz na burracheira, eu tava em carne viva, mas eu tava em paz, tava tudo bem, eu no tava revoltado, tava tudo certo. E quando a situao se apresentou, o que que eu ia fazer? Dar um soco no ar, no nariz de Deus, dizer que eu no queria aquilo? Eu no tinha alternativa. Eu baixei minha cabea e falei sim, Senhor, seja feita a sua vontade, que que eu podia falar? Ento, por essa aceitao ele me deu conhecimento na carne, na pele, no sangue, na vscera, entendeu? Voc no tem idia o que perder um filho, voc no tem idia. Eu tenho dois filhos maravilhosos [...], mas aquela filha que eu perdi insubstituvel, um pedao de mim que no tem, entendeu? Eu vi, era minha filha, cara! Sabe, eu vi a perfeio de Deus ali, a maravilha que a vida, eu dentro da UTI, vendo o beb ser cuidado, como se fosse o beb mais importante do universo, com todas as chances, e no tinha nenhuma e a minha mulher na UTI de adulto, que o plo oposto a escria. Quer dizer, eu tive a oportunidade de transitar num palco de dor, de misria da condio humana, em duas vertentes, ao mesmo tempo, absolutamente em paz com o que estava acontecendo, confortando as pessoas, perfeitamente equilibrado. Eu fiquei dez dias, eu me sentia como se eu fosse um rob teleguiado pela Fora Superior: eu no dei um pio, eu segurei barra de famlia, de
137
amigo, de mestre, me segurei, segurei a situao dela, eu vivi uma coisa assim... Isso pra mim religio, voc entendeu? Religio no ir l beber o vegetal, ir l na missa, de vez em quando, no culto. Acho que viver a presena de Deus na vida, o tempo todo. Eu tive essa graa j diversas vezes, em momentos de dor como esse e em momentos de alegria tambm.
Esta narrativa forte, que mostra a intensidade de determinadas vivncias com o ch Hoasca e o entrelaamento dessas vivncias com aspectos mais amplos da vida de seu ator, aqui exposta para a compreenso do que chamarei de englobamento na fora da
burracheira. Observo que a antropologia contempornea tem utilizado o conceito de englobamento em contextos vrios e distintos128, mas aqui utilizarei este termo visando uma
aplicao bem especfica, por isso, o determinei: na fora da burracheira. O smbolo do Sagrado Corao de Jesus no pertence ao conjunto simblico da doutrina da UDV. um smbolo do catolicismo, com uma delimitao histrica bem clara e uma presena na iconografia catlica brasileira que se deve sobretudo atuao do Apostolado da Orao, movimento introduzido e difundido no pas desde o sculo passado pelos jesutas. Pois bem, a av de Renato, senhora mineira, fervorosamente catlica, tinha em sua casa um quadro do Sagrado Corao de Jesus, o qual era observado por Renato desde a sua infncia. Antes de conhecer a UDV, ele j havia se distanciado do catolicismo e participado do espiritismo kardecista e do candombl. Certamente, o Sagrado Corao era apenas uma longnqua lembrana de seus tempos de criana e da f de sua av, sem um significado especial em seu horizonte religioso de homem adulto. No entanto, certo dia,
Renato vive uma intensa experincia existencial, enquanto homem, esposo e pai. E tal
vivncia humana, por si s extremamente significativa, revestida de um sentido, uma densidade e um colorido especiais por acontecer durante um tempo de burracheira. Tendo bebido o vegetal no momento em que aguarda na sala de espera do hospital o resultado da cirurgia a que submetida sua esposa, Renato se defronta com a imagem do Sagrado Corao que emerge de sua memria em uma ntida e reveladora mirao. Como vimos, a categoria da memria sobremaneira valorizada na UDV, percebendo-se o vegetal como veculo para a recordao. Assim, nesse momento o smbolo do Sagrado Corao
englobado no conjunto de sua cosmoviso religiosa hoasqueira.
128
Cf., p. ex., o conceito de encompassment em Marilyn Strathern (STRATHERN, 1988, P. 259-260), e o conceito de englobamento do contrrio em Louis Dumont. (DUMONT, 1997, p. 369-375).
138
O englobamento vivenciado por Renato bem distinto de uma bricolage de um hipottico sujeito que, em seu individualismo moderno, escolhe a seu bel prazer entre as mercadorias expostas nas prateleiras dos supermercados religiosos, construindo a sua prpria do-it-yourself-religion. No. Para Renato, esse novo elemento que incorporado ao seu universo de convices, iluminando-o e expandindo o seu raio de significados, apresenta-se como uma ddiva, uma coisa inestimvel, uma coisa maravilhosa, um blsamo, luz, presena de Deus, enfim, graa. Portanto, o elemento de especificidade nesse englobamento, que identifico como prprio da experincia dos discpulos da UDV, que ele se d na fora da burracheira. Esta se mostra como um tufo que, na fora de seu movimento centrpeto, aproxima-se de uma provncia simblica distinta e a engloba em seu redemoinho. Tal imagem que utilizo busca expressar a fora do dinamismo autgeno dessa incorporao e, neste caso, at mesmo a velocidade com que ela se d, em meio intensidade do estado alterado de conscincia suscitado pela ingesto do ch hoasca. E a nfase que o relato atribui luz, presente na imagem do Sagrado Corao e na burracheira, indica que esse englobamento tem como princpio unificador a prpria cosmoviso da UDV, na qual a luz desempenha um papel fundamental. Entretanto, a prpria singularidade do evento sucedido na vida de Renato poderia ser aduzida como argumento para a afirmao de sua inutilidade para uma compreenso maior da experincia dos discpulos da UDV. No seria a experincia de Renato de uma intensidade existencial sobremaneira acentuada, o que a distinguiria das vivncias da maioria dos discpulos da UDV, que se aproximariam mais da bricolage to presente no panorama ps-moderno da religiosidade contempornea? Certamente, o que Renato vivenciou tem uma densidade especial e, como afirmei acima, podem-se observar entre os participantes da Unio do Vegetal experincias bem mais superficiais, do ponto de vista existencial. Porm, o que postulo aqui que a mirao do Sagrado Corao de Jesus emblemtica de algo que se d de modo bem mais amplo do que apenas na vida de Renato. Isto porque a intensidade uma das caractersticas recorrentes da burracheira. Determinadas experincias extremamente fortes e de relevante significado para toda a trajetria do sujeito que as vivenciou foram freqentemente observadas e fartamente documentadas em meu trabalho de campo, ao longo das cinqenta entrevistas que realizei. Assim, considero que este englobamento na fora da burracheira pode ser um conceito
139
produtivo para a compreenso da dmarche de apropriaes de contedos religiosos empreendida pelos discpulos da UDV. Um outro passo que se pode dar perceber esse englobamento na fora da
burracheira na prpria trajetria do fundador da Unio do Vegetal, Jos Gabriel da Costa.
Conforme podemos observar na sua histria de vida, delineada acima a partir dos relatos de familiares, mestres da origem e discpulos da UDV, Mestre Gabriel participou de diversas configuraes culturais brasileiras bem especficas: a comear por sua infncia no interior da Bahia, num contexto permeado pelo catolicismo popular. Em seguida, participa em Salvador do ambiente prprio da capoeiragem, alm de freqentar terreiros de candombl e sesses espritas kardecistas. Indo para o Norte do Brasil, integra as levas humanas do Exrcito da Borracha. Em Porto Velho, participa como og de um terreiro de tradio mina e no seringal atua em cultos de pajelana cabocla amaznica. Quando, finalmente, em 1959, bebe pela primeira vez o ch hoasca, Jos Gabriel parece ter tido logo uma experincia muito intensa. Assim, segundo seu filho Jair, naquela primeira sesso ele se dirige ao vegetalista que lhe deu o vegetal e lhe diz: Chico Loureno, a pessoa no conhecedora de tudo. Voc me falou que foi no fim dos encantos. As coisas so infinitas129. Antes da segunda sesso, ele teria dito que a gente vai beber o ch do Chico Loureno e ningum vai sentir nada, e assim teria acontecido. Na terceira vez, seu filho Jair, ento com 9 anos de idade, segundo o relato dele mesmo, teve uma burracheira muito forte, comeou a gritar e foi chamado por seu pai, que lhe disse: Sente. E Jair disse ao pai: O papai um mestre, e um rei, n, feito por Deus. Ainda segundo o hoje Mestre Jair, depois dessa sesso Jos Gabriel que leva para sua casa mariri e chacrona e tem esse dilogo com sua esposa: Pequenina, eu sou Mestre. E ela responde: Mas Gabriel, pelo amor de Deus, o Chico Loureno mestre h no sei quanto tempo, ns quase ficamos todo mundo doido e tu diz que mestre? E ele: Sou Mestre, Pequenina, e vou preparar o mariri. A intensidade da experincia de Jos Gabriel, que logo se reconhece como portador de uma misso como Mestre no Vegetal, e a rapidez com que essa vivncia assimila a sua trajetria religiosa anterior, submetendo-a a uma nova interpretao - quando ele passa a atribuir a si mesmo o que antes era ao do caboclo Sulto das Matas - so dois aspectos que corroboram a interpretao desse processo como englobamento na fora da
burracheira.
129
Entrevista de Mestre Pequenina e Mestre Jair. Jornal Alto Falante, Braslia, ago-out 1995, p. 8.
140
No universo simblico da UDV podem-se detectar muitos traos das configuraes culturais com as quais Jos Gabriel havia entrado em contato. Assim, por exemplo, segundo o relato de uma conselheira que fez uma pesquisa no serto baiano, h benditos populares a Santana extremamente semelhantes Chamada de Senhora Santana, da UDV. As freqentes invocaes de Jesus e da Virgem da Conceio, em inmeras chamadas, tambm expressam essa marca profunda do catolicismo popular no universo simblico de Mestre Gabriel. Do mesmo modo, concepes indgenas, que permearam o xamanismo caboclo amaznico, podem ser identificadas na cosmoviso da Unio do Vegetal, como a crena de que certas plantas possuem um esprito130. Tambm elementos relacionados s religiosidades afro-brasileiras podem ser encontrados em chamadas e histrias da UDV. Deste modo, pode-se perceber o englobamento na fora da burracheira como algo constitutivo da UDV, na medida em que caracteriza a experincia fundante de Jos Gabriel da Costa. Tal experincia pode ser replicada, de modo sempre novo e original, pelos discpulos, que a partir de suas trajetrias singulares individuais e da especificidade de seu contato com a burracheira, vivem um movimento semelhante, constituindo diferentes configuraes, as quais no entanto encontram um eixo interpretativo articulador na vivncia de Mestre Gabriel. Por fim, cumpre mostrar que, na verdade, ainda que tenha a sua singularidade, o
englobamento na fora da burracheira tem uma similaridade com o movimento que se
pode observar na experincia mstica. O que uma perspectiva mais objetivante poderia ver como compreenses religiosas distintas e at mesmo conflitantes pode subitamente passar a ser contemplado como uma nova unidade, que no dilui as diferenas, mas as integra em algo novo. Algo talvez semelhante ao que Otvio Velho indicou presente na iluminao zen e na relao dialgica buberiana, ou na superao da oposio entre Apolo e Dionsio em favor de um novo Dionsio, que engloba Apolo (VELHO, 1995, p. 59). Esse movimento pode ser compreendido, no eixo da tradio hermenutica, como as idas e vindas da pr-compreenso e da compreenso, constituindo o crculo da interpretao. Essa decifragem da vida no espelho do texto, que Ricoeur entende como leitura do sentido oculto no texto do sentido aparente (RICOEUR, 1978, p. 23) pode realmente ser
130
Cf. as palavras do xam peruano Pablo Amaringo, que utilizava a ayahuasca: Every tree, every plant, has a spirit. People may say that a plant has no mind. I tell them that a plant is alive and conscious. A plant may not talk, but there is a spirit in it that is conscious, that sees everything, which is the soul of the plant, its essence, what makes it alive. (LUNA, AMARINGO, 1991, p. 33).
141
emblematizada pela releitura que Renato faz do quadro do Sagrado Corao de Jesus, na fora da burracheira.
142
CONCLUSO: O ITINERRIO DA DISSERTAO
O objetivo desta dissertao, de apresentar a estrutura matricial da Unio do
Vegetal, atravs da etnografia do Ncleo Alto das Cordilheiras, concretiza-se segundo um esquema tridico: o modelo organizacional da UDV, a narrativa histrica de sua constituio e a experincia simblica de seus participantes. O captulo Geometria da Estrela utiliza uma perspectiva sincrnica para mapear a organizao institucional do Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal. Inicio abordando o nvel local, delineando as linhas bsicas de um ncleo da UDV, a sua organizao e hierarquia dos seus scios. Em seguida, passo a um nvel mais amplo, descrevendo a estrutura administrativa da Sede Geral e de seus departamentos. Na medida em que o reconhecimento jurdico da legitimidade do uso ritual da Hoasca considerado de suma importncia pelo CEBUDV, descrevi brevemente o processo de legalizao do uso do ch no Brasil, indicando tambm os seus efeitos na fisiologia humana e a possibilidade de encar-lo como recurso gentico da biodiversidade amaznica. Na seqncia, apresentei os dados do recenseamento do CEBUDV, que possibilitam que se avalie a dimenso dessa instituio religiosa e a sua distribuio no territrio brasileiro. O passo seguinte foi apresentar o Ncleo Alto das Cordilheiras, em Campinas, expondo o trabalho de campo que realizei, a organizao do espao do ncleo, a estrutura de uma sesso de escala e a dinmica da interao dos discpulos. O perfil destes descrito segundo uma metodologia quantitativa, buscando oferecer ao leitor alguma informao acerca da insero scioeconmico-cultural dos membros do ncleo. O captulo A Estrela do Norte, por sua vez, tem uma perspectiva diacrnica. Segundo um enfoque mico, a partir das narrativas dos participantes, apresento uma narrativa histrica da Unio do Vegetal. Primeiramente, traando a trajetria de seu fundador, Jos Gabriel da Costa, e apontando para a sua participao numa ampla seqncia de configuraes culturais da sociedade brasileira. Em seguida, com as recordaes dos mestres da origem, busquei reconstruir os incios da UDV na cidade de Porto Velho. Por ltimo, apresento esquematicamente, com o auxlio de narrativas de discpulos paulistas, a chegada da UDV em So Paulo, a formao do Ncleo Samama e a
143
constituio do ramo de Campinas, dele proveniente: o Ncleo Lupunamanta e, posteriormente, o Ncleo Alto das Cordilheiras. No captulo A Estrela iluminando, adoto, por assim dizer, uma perspectiva de
profundidade. O acesso experincia simblica dos discpulos urbanos da Unio do
Vegetal propiciado pela exposio de algumas histrias de vida de membros do Alto das Cordilheiras. As citaes extensas do discurso deles visam possibilitar ao leitor uma percepo de como se apresenta para eles a experincia com o ch Hoasca e quais as suas repercusses nas vidas desses indivduos. Na seqncia, centro o foco em algumas categorias fundamentais do discurso dos discpulos, com o objetivo de captar a lgica da experincia simblica vivida por eles, que se apresenta como possibilidade de mediao entre dimenses anteriormente cindidas. Este tpico, Alcanar o Alto das Cordilheiras constitui propriamente o corao do argumento desta dissertao, enquanto que o seguinte o aprofunda, propondo um novo instrumento interpretativo para a compreenso da
originalidade da experincia com o Vegetal: o conceito de englobamento na fora da burracheira.
Estes trs aspectos matriciais - a ordem institucional da UDV (Geometria da
Estrela), a representao de sua origem e disseminao histrica no mapa do Brasil (A Estrela do Norte) e a experincia de englobamento propiciada pela Hoasca (A Estrela iluminando) - constituem a condio de possibilidade sobre a qual so inscritos processos
simblicos, mitopoticos e hiperreais mais complexos. O propsito deste trabalho no , porm, este campo complexo. O propsito uma abertura do campo, a compreenso das formaes seminais que denomino a matriz da Unio do Vegetal.
144
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ABREU, Regina. A doutrina do Santo Daime. In: LANDIM, Leilah (org.). Sinais dos tempos: Diversidade religiosa no Brasil. Rio de Janeiro: ISER, 1990. p. 253-263. (Col. Cadernos do ISER n23). AFONSO, Carlos Alberto. O aparicional. Artigo indito. 37. _____________________ Ocidente subalterno. Artigo indito. 47 p. ANDRADE, Afrnio Patrocnio de. A Unio do Vegetal no Astral Superior. Comunicaes do ISER, Rio de Janeiro: ISER, ano 7, n 30, p. 61-65, 1998. __________________ O fenmeno do ch e a religiosidade cabocla: Um estudo centrado na Unio do Vegetal. Orientador: Antnio Gouva Mendona. So Bernardo do Campo: Instituto Metodista de Ensino Superior, 1995. Dissertao. (Mestrado em Cincias da Religio). 295 p. ARARIPE, Flamnio de Alencar. Unio do Vegetal: a oasca e a religio do sentir. Planeta, So Paulo, n 105, p. 34-41, jun. 1981. ARAJO, Wladimyr Sena. Navegando sobre as ondas do Daime. Histria, cosmologia e ritual da Barquinha. Campinas: Editora da Unicamp / Centro de Memria, 1999. 279 p. BARROSO, Maria Macedo. A construo da pessoa oriental no Ocidente: um estudo de caso sobre o Siddha Yoga. Orientador: Luiz Fernando Dias Duarte. Rio de Janeiro: UFRJ/ Museu Nacional, 1999. 207 p. Dissertao. (Mestrado em Antropologia Social). BASTIDE, Roger. As Religies Africanas no Brasil. So Paulo: Livraria Pioneira Editora, 1971, 3a. ed. 567 p. BECKER, Howard. Outsiders: studies in the sociology of deviance. New York: The Free Press, 1973. 215 p. BENCHIMOL, Samuel. Population changes in the Brazilian Amazon. In: HEMMING, John. Change in the Amazon Basin. Volume II: The frontier after a decade of colonisation. Manchester: Manchester University Press, 1985. P. 37-50. BIRMAN, Patrcia, NOVAES, Regina, CRESPO, Samira (org.). O mal brasileira. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1997. 235 p. BLOOM, Harold. Omens of millennium. The gnosis of angels, dreams, and resurrection. New York: Riverhead, 1997. 255 p. BOCCARA, Ernesto Giovanni. El nacimiento de la rosa verdadera. Takiwasi,Tarapoto: Takiwasi, n 3, ano 2, p. 6-15, abril 1995.
145
BRISSAC, Srgio. Jos Gabriel da Costa: Mestre e Autor da Unio do Vegetal. In: LABATE, Beatriz, ARAJO, Wladimyr Sena. O uso ritual da ayahuasca. Campinas: Mercado de Letras, no prelo. BRIGO, Nlia. O trabalho material no Pr-Ncleo Alto das Cordilheiras. Campinas: 1995, mimeo, 51 p. CAILLOIS, Roger. Jeux des adultes. Definitions. In: Roger Caillois (ed.). Jeux et sports. Encyclopdie de la Pliade. Paris: Gallimard, 1967, pp. 150-179. CAMPBELL, Colin. A orientalizao do ocidente: reflexes sobre uma nova teodicia para um novo milnio. Religio e sociedade. Rio de Janeiro: CER - ISER, vol. 18, n. 1, p. 5-22, ago 1997. ________________ The romantic ethic and the spirit of modern consumerism. Oxford & Cambridge: Blackwell, 1995. 301 p. CARNEIRO, Edison. Folguedos tradicionais. Rio de Janeiro, 1974. 212 p. CARVALHO, Jos Jorge de. Caractersticas do fenmeno religioso na sociedade contempornea. In: BINGEMER, Maria Clara (org.). O impacto da modernidade sobre a religio. So Paulo: Edies Loyola, 1992. _________________________ A tradio mstica afro-brasileira. Religio e sociedade. Rio de Janeiro: CER - ISER, vol. 18, n. 2, p. 93-122, dez 1997. __________________________ Antropologia e esoterismo. Dois contradiscursos da modernidade. Horizontes antropolgicos. Porto Alegre: UFRGS/ IFCH/ PPGAS, ano 4, n. 8, p. 53-71, jun. 1998. CENTRO DE ESTUDOS MDICOS DA UDV. Texto do Programa Oficial do II Congresso em Sade. Hoasca e desenvolvimento integral do ser humano. Campinas, 1993. CENTRO ESPRITA BENEFICENTE UNIO DO VEGETAL. Consolidao das Leis do Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal. Braslia: Sede Geral, Centro de Memria e Documentao da Unio do Vegetal, 1994, 3 ed, 116 p. ______________________________________________________ Site oficial do CEBUDV. Disponvel na INTERNET via http://www.udv.org.br. Arquivo consultado em 1999. _______________________________________________________ Unio Hoasca; Fundamentos e objetivos. Braslia: Sede Geral, 1989. 141 p.
do Vegetal:
COUTO, Fernando de la Rocque. Santos e xams: Estudos do uso ritualizado da ayahuasca por caboclos da Amaznia, e, em particular, no que concerne sua utilizao scioteraputica na doutrina do Santo Daime. Orientador: Luis Tarlei de Arago. Braslia: UnB, 1989. 242 p. Dissertao. (Mestrado em Antropologia).
146
CSORDAS, Thomas J. The sacred self: a cultural phenomenology of charismatic healing. Berkeley: University of California Press, 1997. 327 p. DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heris: para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco, 6 ed., 1997. 350 p. DUMONT, Louis. Homo hierarchicus: o sistema de castas e suas implicaes. So Paulo: EDUSP, 2 ed., 1997. 412 p. ELIADE, Mircea. Le chamanisme et les techniques archaques de lextase. Paris: Payot, 1968. 2a. ed. rev. 405 p. ______________ Experiencias de la luz mstica. In: Mefistfeles y el andrgino. Barcelona, Labor/ Punto Omega, 1984. p. 21-97. ELIAS, Norbert, DUNNING, Eric. A busca da excitao. Lisboa: Difel, 1992. 421 p. FABIANO, Ruy. Ch Hoasca inofensivo sade. Correio Braziliense, Braslia, 10 jul. 1996. Caderno Cidades, p. 4. FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala: formao da famlia brasileira sob o regime da economia patriarcal. Rio de Janeiro: Record, 1996, 31a. ed., 569 p. GADAMER, Hans-Georg. The relevance of the beautiful and other essays. Cambridge: Cambridge University Press. Cap. 10: Aesthetic and religious experience. p. 140-153. GALVO, Eduardo. Santos e visagens: um estudo da vida religiosa de It; Amazonas. So Paulo: Companhia Editora Nacional, 1955. 202 p. GENNEP, Arnold van. Os ritos de passagem: estudo sistemtico dos ritos da porta e da soleira, da hospitalidade, da adoo, gravidez e parto, nascimento, infncia, puberdade, iniciao, coroao, noivado, casamento, funerais, estaes, etc. Petrpolis: Vozes, 1978. 184 p. GENTIL, Lucia Regina Brocanello e GENTIL, Henrique Salles. O uso de psicoativos em um contexto religioso: a Unio do Vegetal. In: LABATE, Beatriz, ARAJO, Wladimyr Sena. O uso ritual da ayahuasca. Campinas: Mercado de Letras, no prelo. GIUMBELI, Emerson Alessandro. O cuidado dos mortos: os discursos e intervenes sobre o Espiritismo e a trajetria da Federao Esprita Brasileira (1890-1950). Orientador: Luiz Fernando Dias Duarte. Rio de Janeiro: UFRJ/ MN/ PPGAS, 1995. 197 p. Dissertao. (Mestrado em Antropologia Social). GONALVES, Odair Dias, BASTOS, Francisco Incio. S socialmente: os fatores psicoativos nas relaes humanas atravs dos tempos. Rio de Janeiro: Relume-Dumar, 1992. 136 p. GOULART, Sandra Lcia. As razes culturais do Santo Daime. Orientadora: Maria Lcia Montes. So Paulo: USP/ FFLCH/ DA, 1996. 248 p. Dissertao. (Mestrado em Antropologia Social).
147
GROB, Charles S. et al. Human psychopharmacology of hoasca, a plant hallucinogen used in ritual context in Brazil. Journal of Nervous and Mental Disease 184, p. 86-94. Fev 1996. GROISMAN, Alberto. Eu venho da floresta: ecletismo e prxis xamnica daimista no Cu do Mapi. Orientador: Esther Jean Langdon. Florianpolis: UFSC/ DCS/ PPGAS. 1991. 91 p. Dissertao. (Mestrado em Antropologia Social). GRUZINSKI, Serge. La colonizacin de lo imaginario: sociedades indgenas y occidentalizacin en el Mxico espaol. Siglos XVI-XVIII. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1993. 310 p. GUIMARES, Maria Beatriz Lisboa. A Lua Branca de Seu Tupinamb e de Mestre Irineu: Estudo de caso de um terreiro de umbanda. Orientador: Jos Flvio Pessoa de Barros. Rio de Janeiro: UFRJ, 1992. 124 p. Dissertao. (Mestrado em Cincias Sociais). GUIMARES ROSA, Joo. Grande Serto: Veredas. So Paulo: Abril Cultural, 1983. 429 p. GUSDORF, Georges. Lesprit des jeux. In: CAILLOIS, Roger (ed.). Jeux et sports. Encyclopdie de la Pliade. Paris: Gallimard, 1967, p. 1157-1183. HOLANDA, Sergio Buarque de. Razes do Brasil. So Paulo: Companhia das Letras, 26 ed., 1995. 220 p. __________________________ Viso do paraso. So Paulo: Brasiliense, 1994. 365 p. HUIZINGA, Johan. Homo ludens. O jogo como elemento da cultura. So Paulo: Perspectiva, 1996. 243 p. JAMES, William. The varieties of religious experience: a study in human nature. New York: Simon & Schuster, 1997. 416 p. KLOPENBURG, Boaventura. O espiritismo no Brasil. Petrpolis: Vozes, 1960. LANDES, Ruth. A cidade das mulheres. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1967. 316 p. LANGDON, E. Jean Matheson, BAER, Gerhard. Portals of power: shamanism in South America. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1992. 350 p. LANGDON, E. Jean Matteson (org.). Xamanismo no Brasil: novas perspectivas. Florianpolis, Editora da UFSC, 1996, 367 p. LVI-STRAUSS, Claude. O feiticeiro e sua magia. In: Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975. LEWIS, Ioan M. xtase religioso. Um estudo antropolgico da possesso por esprito e do xamanismo. So Paulo: Perspectiva, 1977. 268 p.
148
LINDER, M., SCHEID, John. Quand croire cest faire. Le problme de la croyance dans la Rome ancienne. Archives des Sciences Sociales des Religions, n. 81, jan-mar 1993. LUNA, Luis Eduardo, AMARINGO, Pablo. Ayahuasca visions. The religious iconography of a peruvian shaman. Berkeley: North Atlantic Books, 1991, 160 p. LUNA, Luis Eduardo. Ayahuasca em cultos urbanos brasileiros. Estudo contrastivo de alguns aspectos do Centro Esprita e Obra de Caridade Prncipe Espadarte Reino da Paz (a Barquinha) e o Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal (UDV). Trabalho apresentado para o concurso de professor adjunto em antropologia, Departamento de Cincias Sociais da UFSC. Florianpolis, 1995, mimeo. 77 p. __________________ Vegetalismo. Chamanismo entre los ribereos de la Amazona Peruana. (Trad. de Vegetalismo. Shamanism among the mestizo population of the peruvian Amazon. Estocolmo, Almqvist & Wiksell International, 1986). Florianpolis: 1996, mimeo. LUZ, Leila Amaral. Carnaval da alma: comunidade, essncia e sincretismo na Nova Era. Orientador: Otvio Velho. Rio de Janeiro: UFRJ/ MN/ PPGAS. 368 p. Tese. (Doutorado em Antropologia Social). _________________ As implicaes ticas dos sentidos Nova Era de comunidade. Religio e sociedade. Rio de Janeiro: CER - ISER, vol. 17, n. 1-2, p. 54-74, ago 1996. LUZ, Pedro Fernandes Leite da. Estudo comparativo dos complexos ritual e simblico associados ao uso da Banisteriopsis caapi e espcies congneres em tribos de lngua Pano, Arawak, Tukano e Maku do noroeste amaznico. Orientador: Eduardo Viveiros de Castro. Rio de Janeiro: UFRJ/ MN/ PPGAS, 1996. 84 p. Dissertao. (Mestrado em Antropologia Social). MACRAE, Edward. El uso religioso de la Ayahuasca en el Brasil contemporneo. Takiwasi, Tarapoto: Takiwasi, n 3, ano 2, p. 16-23, abril 1995. _________________ Guiado pela lua. Xamanismo e uso ritual da ayahuasca no culto do Santo Daime. So Paulo: Brasiliense, 1992, 163 p. MCKENNA, Dennis. Aspectos farmacolgicos do Ch. Jornal Alto Falante, Braslia: Sede Geral do CEBUDV, jul 1991, p. 15. MCKENNA, Terence. New Maps of Hyperspace. Artigo disponvel na INTERNET http://www.deoxy.org/t newmap.htm. Arquivo consultado em 1999. via
MAUS, Raymundo Heraldo. Padres, Pajs, Santos e Festas: Catolicismo popular e controle eclesistico. Belm: CEJUP, 1995, 517 p. MILLONES, Luis, LEMLIJ, Moises (ed.). En el nombre del Seor: shamanes, demonios y curanderos del norte del Per. Lima: BPP - SIDEA, 1994. 330 p.
149
MORALES, Lcia Arrais. Vai e Vem, Vira e Volta: as rotas dos Soldados da Borracha. Orientadora: Giralda Seyferth. Rio de Janeiro: UFRJ/Museu Nacional, 1999. 379 p. Tese. (Doutorado em Antropologia Social). MURA, Glria. UDV: quantos somos e por onde estamos? Jornal Alto Falante, Braslia: Sede Geral, abril-junho de 1995, p. 7. NARBY, Jeremy. La serpiente csmica, el ADN y los orgenes del saber. Lima: Takiwasi Racimos de Ungurahui, 1997. 228 p. PEREIRA, Nunes. A casa das minas: Contribuio ao estudo das sobrevivncias do culto dos voduns do panteo daomeano, no estado do Maranho, Brasil. Petrpolis: Vozes, 1979, 2a. ed. 245 p. PEREIRA JR., Alfredo. The degrees of consciousness. Cincia e cultura, So Paulo: SBPC, v. 50, n. 2-3, p. 129-134, mar-jun 1998. PINTO, Emanuel Pontes. Criao do Territrio Federal do Guapor: fator de integrao da fronteira ocidental do Brasil. Orientadora: Maria de Lourdes Viana Lyra. Rio de Janeiro: UFRJ, 1992. 251 p. Dissertao. (Mestrado em Histria). PIRES, Antonio Liberac Cardos Simes. A capoeira no jogo das cores: criminalidade, cultura e racismo na Cidade do Rio de Janeiro (1890-1937). Campinas: Unicamp, 1996. 258 p. Dissertao. (Mestrado em Histria). PUPO NOGUEIRA, Spencer de Morais. Ncleo urbano florestal: Modelo arquetpico da cultura e do homem amaznico. Orientador: Sylvio de Barros Sawaya. So Paulo: Universidade de So Paulo, 1994. 194 p. Tese. (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo). RAMREZ DE JARA, Mara e PINZN CASTAO. Sibundoy shamanism and popular culture. In: LANGDON, E. Jean Matheson e BAER, Gerhard. Portals of power: shamanism in South America. Albuquerque: University of New Mexico Press, 1992. p. 287-303. RAMREZ, Mara Clemencia. El chamanismo, un campo de articulacin de colonizadores y colonizados en la regin amaznica colombiana. Revista Colombiana de Antropologa, Bogot: Instituto Colombiano de Antropologia, vol. XXXIII, p. 165-184. 1996-1997. REDDY, William R. Against constructionism: the historical ethnography of emotions. Current Anthropology, Vol. 38, no. 3, junho 1997. p. 327-351. RICOEUR, Paul. O conflito das interpretaes: ensaios de hermenutica. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1978. 419 p. Existncia e hermenutica. RODRIGUES, Antnio Olvio. Curso de Iniciao Esotrica. So Paulo: Editora Prof. Francisco Valdomiro Lorenz, 1991. 143 p. SANCHIS, Pierre. O campo religioso no Brasil contemporneo. In: ORO, Ari Pedro, STEIL, Carlos Alberto (orgs.). Globalizao e religio. Petrpolis, Vozes, 1997. p. 103-115.
150
SCHULTES, Richard Evans, HOFMANN, Albert. Plants of the gods: Their sacred, healing and hallucinogenic powers. Rochester, Healing Arts Press, 1992. 192 p. SCHULTES, Richard Evans, RAFFAUF, Robert F. The healing forest: Medicinal and toxic plants of the Northwest Amazonia. Portland, Dioscorides Press, 1990, 484 p. __________________________________________ Vine of the soul: Medicine men, their plants and rituals in the Colombian Amazonia. Oracle, Synergetic Press, 1992. 282 p. SILVA, Clodomir Monteiro da. O palcio de Juramidan: Santo Daime: um ritual de transcendncia e despoluio. Recife: UFPE, 1983. 202 p. Dissertao. (Mestrado em Antropologia Cultural). SILVA, Vagner Gonalves da. O antroplogo e sua magia: Trabalho de campo e texto etnogrfico nas pesquisas antropolgicas sobre religies afro-brasileiras. Orientador: Jos Guilherme Cantor Magnani. So Paulo: USP, 1998. 239 p. Tese. (Doutorado em Antropologia Social). SILVA S, Domingos Bernardo G. Parecer final do Grupo de Trabalho do Conselho Federal de Entorpecentes, de autoria de Domingos Bernardo de Silva S, de 2 de junho de 1992. ____________________________ Ayahuasca, a conscincia da expanso. Discursos sediciosos. Crime, Direito e Sociedade. Rio de Janeiro: Instituto Carioca de Criminologia. Ano 1, n. 2, 2o sem. 1996. p 145-174. SOARES, Luiz Eduardo. O rigor da indisciplina. Rio de Janeiro: Relume-Dumar, 1994. Misticismo e reflexo. p. 223-231. _____________________ O Santo Daime no contexto da nova conscincia religiosa. In: LANDIM, Leilah (org.). Sinais dos tempos: Diversidade religiosa no Brasil. Rio de Janeiro: ISER, 1990. p. 265-274. (Col. Cadernos do ISER n 23). _____________________ Religioso por natureza: cultura alternativa e misticismo ecolgico no Brasil. In: LANDIM, Leilah (org.). Sinais dos tempos: Tradies religiosas no Brasil. Rio de Janeiro: ISER, 1989. p. 121- 144. (Col. Cadernos do ISER n 22). STEWART, Omer C. Peyote religion: a history. Norman: University of Oklahoma Press, 1990. 454 p. STRATHERN, Marilyn. The gender of the gift: problems with women and problems with society in Melanesia. Berkeley: University of California Press, 1988. 422 p. TART, Charles T. Investigating altered states of consciousness in their own terms: a proposal for the creation of state-specific sciences. Cincia e cultura, So Paulo: SBPC, v. 50, n. 2-3, p. 103-116, mar-jun 1998. TAUSSIG, Michael. Xamanismo, colonialismo e o homem selvagem: um estudo sobre o terror e a cura. So Paulo: Paz e Terra, 1993. 481 p.
151
TURNER, Victor W. O processo ritual: estrutura e anti-estrutura. Petrpolis: Vozes, 1974. 245 p. __________________ Symbolic studies. Annual Review of Anthropology, v. 4, p. 145-161, 1975. TURNBULL, Collin. Liminality: a synthesis of subjective and objective experience. In: SCHECHNER, Richard e APPEL, Willa (eds.). By means of performance: intercultural studies of theatre and ritual. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. p. 50-81. UTZA, Francis. J.G.R.: Metafsica do Grande Serto, So Paulo: Edusp, 1994. 459 p. VELHO, Gilberto. Projeto e metamorfose: uma antropologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Ed., 1994. 137 p. ______________ Nobres & anjos: Um estudo de txicos e hierarquia. Rio de Janeiro: Editora Fundao Getlio Vargas, 1998. 216 p. VELHO, Otvio. Besta-fera: recriao do mundo. Ensaios crticos de antropologia. Rio de Janeiro: Relume-Dumar, 1995. 250 p. _____________ Globalizao: antropologia e religio. Mana. Rio de Janeiro: UFRJ/ MN/ PPGAS, vol. 3, n. 1, p. 133-154, abr 1997. _____________ A orientalizao do ocidente: comentrios a um texto de Colin Campbell. Religio e sociedade. Rio de Janeiro: CER - ISER, vol. 18, n. 1, p. 23-29, ago 1997. _____________ Ensaio hertico sobre a atualidade da gnose. Horizontes antropolgicos. Porto Alegre: UFRGS/ IFCH/ PPGAS, ano 4, n. 8, p. 34-52, jun. 1998. WEBER, Max. Economia y sociedad. Esbozo de sociologia comprensiva. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1974. 660 p.
152
JORNAIS
1. Alto Falante, Jornal do Departamento de Memria e Documentao da UDV. Braslia
a) Jun 89 - p. 3-6 - Mestre Monteiro, 23 anos dedicados causa da Unio b) Nov / Dez 90 - p. 4-6 - Mestre Adamir, um pioneiro do Vegetal c) Jul 91 - p. 2-3 - UDV festeja seus 30 anos d) Idem - p. 4-7 - A caminhada de um poeta na UDV - Jos Luiz de Oliveira e) Idem - p. 8-11 - Entrevista M. Braga f) Idem - p. 15 - Aspectos farmacolgicos do Ch. g) Mar / Jul 92 - CONFEN libera ch por unanimidade. b) Dez 92 / Jan 93 - No relato dos pioneiros, o perfil do Mestre. c) Jan / Jul 93 - p. 10-13 - Entrevista com M. Nonato. d) Ago 93 / Fev 94 - p. 8-10 - Entrevista com M. Ccero. e) Mar / Abr 94 - p. 6-9 - Entrevista com M. Sidon. f) Mai / Jun / Jul 94 - p. 8-11 - Entrevista com M. Pernambuco. g) Ago / Set / Out 94 - p. 6-9 - Entrevista com M. Roberto Souto. h) Nov / Dez 94 / Jan 95 - p. 6-9 - Entrevista com M. Manoel Nogueira. i) Abr / Jun 95 - p. 8-11 - Entrevista com Cons. Paixo. j) Ago / Set / Out 95 - p. 6-9 - Entrevista com M. Pequenina e M. Jair. l) Nov / Dez 95 / Jan 96 - p. 4-5 - Entrevista com M. Monteiro. m) Fev / Set 96 - p. 8-11 - Entrevista com M. Florncio.
2.
O Alto Madeira. Porto Velho. (Consultado nos arquivos do Departamento de Memria e Documentao do CEBUDV, Braslia.).
a) 6 de outubro de 1967. Artigo: Convico do Mestre. b) Julho de 1971. Artigo: Velando enquanto dorme.
153
ANEXO 1
DISSIDNCIAS DA UNIO DO VEGETAL
1. Centro Esprita Beneficente Ordem Manica Rosaluz Dirigente: Augusto Queixada Sede: Porto Velho, RO Fundado na dcada de 70 2. Centro Espiritual Beneficente Unio do Vegetal Dirigente: Joaquim Jos de Andrade Neto Sede: Campinas, SP. Presente: Mato Grosso (fazenda com plantio de mariri) Fundado em 22 de julho de 1981 3. Centro Esprita Beneficente Ordem do Templo Universal de Salomo Dirigente: Altensio Jos de Albuquerque Sede: Porto Velho, RO Presente em: Porto Velho, Manaus, Rio Branco, Tarauac, So Lus, Fortaleza, Aracaju, Recife, Joo Pessoa, Belo Horizonte, Braslia, So Paulo, Santos e Rio de Janeiro. Aproximadamente 500 participantes. Fundado em 25 de julho de 1991 4. Associao Esprita Luz do Vegetal Dirigente: Elzinha Piacentini Sede: Araariguama SP, 40 km de So Paulo, SP Fundada 24 de dezembro de 1992 5. Dirigente: Raimundo Ferreira (dissidncia do Augusto) Presente em: Uberlndia, MG e Jundia, SP 6. Dirigente: Asplinger Presente em: Manaus, AM 7. Associao Beneficente Luz de Salomo Dirigente: Wilson Gonzaga Presente em: So Paulo, SP
154
ANEXO 2
QUESTIONRIO
1. Dados Pessoais Nome: Idade: anos Data de nascimento: / Cidade: Cidade: / Local de nascimento: Local atual de moradia: Estado Civil: ( ( ( ( ( ( ) solteiro/a ) casado/a ) vivo/a ) divorciado/a ) desquitado/a ) separado/a Estado: Estado:
Escolaridade: ( ) primrio ( ) secundrio ( ) superior incompleto - rea: ( ) superior completo - rea: ( ) mestrado - rea: ( ) doutorado - rea: Profisso: 1. 2. Filiado a algum partido poltico? ( ) Sim Qual? ( ) Simpatizante Qual? ( ) No 2. Dados Scio-Econmicos: Qual a faixa de sua renda familiar mensal? ( ) 0 a 5 salrios mnimos ( ) 5 a 10 salrios mnimos ( ) 10 a 20 salrios mnimos ( ) 20 a 30 salrios mnimos ( ) mais de 30 salrios mnimos
155
Em qual classe social voc se considera includo(a)? ( ) trabalhadora ( ) mdia inferior ( ) mdia mdia ( ) mdia alta ( ) alta Voc possui: ( ) casa prpria ( ) telefone ( ) automvel ( ) computador ( ) conexo com a Internet ( ) casa de praia ou campo No momento voc tem emprego? ( ) Sim ( ) No 3. Dados Religiosos: Religies anteriores: 1. 2. 3. 4. 5. Religies dos Pais: Me: Pai: Tempo de participao na UDV: Grau na UDV: ( ) No-scio ( ) Scio ( ) Corpo Instrutivo ( ) Corpo do Conselho ( ) Quadro de Mestres Lugares que j ocupou na UDV: 1. 2. 3. 4. 5. anos
156
ENTREVISTA
OBSERVAES TICAS: a) Consentimento livre e esclarecido. b) Liberdade de responder ou no determinadas questes. c) Utilizarei as entrevistas em minha reflexo acerca dos discpulos da Unio do Vegetal na realidade urbana brasileira, podendo citar trechos do material recolhido, sempre mudando os nomes das pessoas, para salvaguardar a sua privacidade. ABORDAGEM DIACRNICA: 1. Conte a trajetria de sua vida, especialmente apontando para a sua busca espiritual. 2. De que religies voc chegou a participar? [Insero na contra-cultura, nos movimentos de oposio ditadura militar...] Voc chegou a conhecer ou frequentar outras religies que fazem uso do ch? Quais? Por quanto tempo? 3. Voc antes fazia uso de drogas ou lcool? Com frequncia? Isso tem a ver com o uso do ch hoasca? 4. Conte como voc chegou a conhecer o ch hoasca e a Unio do Vegetal. 5. Voc j conhecia pessoas da UDV de algum outro lugar? 6. Houve alguma transformao em sua vida naquele momento? 7. Que motivaes levaram voc a permanecer na Unio do Vegetal? 8. Quais as maiores dificuldades que voc encontrou para seguir na Unio do Vegetal? ABORDAGEM SINCRNICA: 9. No presente, h alguma repercusso da sua vivncia religiosa na Unio do Vegetal em sua vida prtica? 10. Como se articula a sua vida familiar e a participao na Unio do Vegetal? 11. Sua vivncia na UDV chega a influenciar sua vida profissional? E esta, por sua vez, influencia a primeira? 12. E como se relaciona sua participao na UDV e o seu lazer? Voc sente que h uma dimenso ldica em sua experincia com o ch? 13. A sua vivncia na UDV de algum modo repercute na sua relao com a sociedade no seu sentido mais amplo: a poltica, o meio-ambiente...? 14. Como voc descreve ou classifica o ch hoasca?
157
15. Como para voc participar de uma religio que usa um ch de propriedades psicoativas? Como voc se sente diante das pessoas que no usam o ch? 16. Como a sua relao com os demais scios da UDV, nos dias de sesso e nos outros dias? 17. Como voc v a participao das mulheres na UDV? 18. Como voc observa o exerccio do poder e a estrutura institucional do Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal? 19. Voc participa dos trabalhos do ncleo? De que modo? 20. Que dificuldades voc enfrenta hoje para ser um discpulo da Unio do Vegetal? 21. Como para voc ser um discpulo urbano dessa religio nascida entre caboclos, na floresta amaznica? ABORDAGEM PROFUNDA: 22. O que voc sente que a burracheira? 23. Quais os sentimentos mais frequentemente experimentados por voc no tempo de burracheira? 24. Conte algumas vivncias significativas que voc teve sob o efeito do Vegetal. [Experincias positivas e negativas]. 25. Alguns chamam a Unio do Vegetal de a religio do sentir. Voc considera esta uma expresso apropriada? 26. O que h de especfico no sentir dos participantes da UDV - durante as sesses e fora delas? 27. Como se relacionam em sua vivncia religiosa estes trs verbos: SENTIR - CRER CONHECER? 28. Quem , para voc, Jos Gabriel da Costa? 29. Quem , para voc, Jesus? 30. Quem , para voc, Salomo?
158
ANEXO 3
PRESENA DO CEBUDV NO BRASIL
REGIO NORTE
CIDADE Manaus-AM Envira-AM Belm-PA Macap-AP Boa Vista-RR Porto Velho-RO Guajar-Mirim-RO Jaru-RO Ji-Paran-RO Ariquemes-RO Machadinho D'OesteRO Presidente Mdici-RO Ouro Preto D'OesteRO Cacoal-RO Alta Floresta D'OesteRO Campo Novo-RO Rio Branco-AC Plcido de Castro-AC Cruzeiro do Sul-AC Feij-AC Tarauac-AC Vila Extrema-AC TOTAL POPULAO DIMENSO 1.157.357 ***** 1.144.312 220.962 165.518 294.227 36.542 48.141 95.356 68.503 28.949 28.490 52.261 72.922 33.471 15.434 228.857 12.101 56.705 22.142 23.715 ***** metrpole pequena metrpole mdia mdia mdia pequena pequena pequena pequena pequena pequena pequena pequena pequena pequena mdia pequena pequena pequena pequena pequena UNIDADES UDV 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 ASSOCIADOS 680 39 113 54 258 474 54 37 106 109 70 62 46 44 37 54 169 44 161 60 53 9 2.733
159
REGIO NORDESTE
CIDADE Recife-PE Caruaru-PE Macei-AL Campina Grande-PB Salvador-BA Ilhus-BA Fortaleza-CE Sobral-CE TOTAL POPULAO DIMENSO 1.346.045 231.989 723.142 344.730 2.211.539 242.445 1.965.513 138.565 metrpole mdia mdia mdia metrpole mdia metrpole mdia UNIDADES UDV 2 1 1 1 4 1 2 1 ASSOCIADOS 142 126 82 38 416 129 271 94 1.298
REGIO SUDESTE
CIDADE So Paulo-SP Campinas-SP Mogi das Cruzes Rio de Janeiro-RJ Petrpolis-RJ Niteri-RJ Guarapari-ES Caldas-MG Belo Horizonte-MG Lagoa da Prata-MG Governador ValadaresMG Ub-MG Divinpolis-MG Uberlndia-MG TOTAL POPULA DIMENSO O 9.839.066 metrpole 908.906 metrpole 312.685 mdia 5.551.538 metrpole 269.669 mdia 450.364 mdia 73.730 pequena 13.047 pequena 2.091.371 metrpole 34.431 pequena 231.242 mdia 77.159 171.565 438.986 pequena mdia mdia UNIDADES UDV 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ASSOCIADO S 358 188 103 221 73 42 92 73 165 87 154 62 53 46 1.717
160
REGIO CENTRO-OESTE
POPULAO DIMENS O Braslia-DF (c/ Sede 1.921.946 metrpole G.) Goinia-DF 1.003.477 metrpole Campo Grande-MT 600.069 mdia Cuiab-MT 433.355 mdia Barra do Garas-MT 47.133 pequena TOTAL CIDADE UNIDADES UDV 4 2 1 1 1 ASSOCIADOS 408 185 140 212 34 979
REGIO SUL
CIDADE Porto Alegre-RS Florianpolis-SC Joaaba-SC Cricima-SC Curitiba-PR TOTAL POPULA DIMENSO O 1.288.879 Metrpole 271.281 mdia 28.346 Pequena 159.101 mdia 1.476.253 Metrpole UNIDADES UDV 1 1 1 1 1 ASSOCIADO S 73 81 55 15 129 353
161
ANEXO 4
UNIDADES DA UDV VISITADAS:
ESTADO DE SO PAULO: 1. Campinas - Ncleo Alto das Cordilheiras 2. Campinas - Ncleo Lupunamanta 3. So Paulo - Ncleo Samama 4. So Paulo - Ncleo So Joo Batista 5. Mogi das Cruzes - Ncleo Rei Davi ESTADO DE MINAS GERAIS: 6. Belo Horizonte - Ncleo Rei Salomo 7. Lagoa da Prata - Ncleo Lagoa da Prata 8. Governador Valadares - Ncleo Luz Divina 9. Ub - Ncleo Recanto das Flores ESTADO DO RIO DE JANEIRO: 10. Rio de Janeiro - Ncleo Pupuramanta 11. Rio de Janeiro - Ncleo Janana 12. Niteri - Distribuio Autorizada de Niteri 13. Petrpolis - Ncleo Camalango DISTRITO FEDERAL: 14. Braslia - Sede Geral 15. Braslia - Ncleo Gaspar ESTADO DO PARAN: 16. Curitiba - Ncleo So Cosmo e So Damio
162
ANEXO 5
Fotocpia de carta de autorizao do Centro Esprita Beneficente Unio do Vegetal a Srgio Ges Telles Brissac, para a realizao da pesquisa. Assinam:
Edison Saraiva Neves Presidente da Diretoria Geral Raimundo Nonato Marques Mestre Geral Representante
163
ANEXO 6
FONTES ORAIS
a) DIRETAS131
1. Depoimento do Cons. Carmiro Gabriel da Costa, filho de Jos Gabriel da Costa. Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1995. 2. Depoimento de M. Antnio da Costa, irmo de Jos Gabriel da Costa. Rio de Janeiro, 4 de novembro de 1995. 3. Entrevista de M. Raimundo Carneiro Braga. Rio de Janeiro, agosto de 1998. 4. Entrevista de Ivan Marques. Campinas, setembro de 1998. 5. Entrevista de M. Jos Luiz de Oliveira. Rio de Janeiro, 25 de abril de 1999. 6. Entrevista de M. Jos Luiz de Oliveira. Braslia, 26 de julho de 1999.
b) PESQUISADAS EM ARQUIVO
7. Entrevista de Alfredo Gabriel da Costa, irmo de Jos Gabriel da Costa, a Edson Lodi. Na Estncia Centro-Oeste, 17 de abril de 1987. In: Memrias, Volume I. Centro de Memria e Documentao do CEBUDV. 8. Depoimento de Hilton Pereira de Pinho, s.d. 9. Entrevista de M. Jos Luiz de Oliveira a Edson Lodi. Dezembro de 1990. In: Memrias, Volume II. 10. Entrevista de M. Raimundo Pereira da Paixo a Edson Lodi. So Paulo, junho de 1989. In: Memrias, Volume II. 11. Entrevista de Raimundo Pereira da Paixo a Lcia Gentil. Campinas, 3 de junho de 1993. 12. Entrevista de M. Raimundo Carneiro Braga a Edson Lodi, Ruy Fabiano e Joo Bosco. Braslia, junho de 1991. In: Memrias, Volume II. 13. Rubens Rodrigues. Explanao na sesso inaugural do ncleo de Manaus, 1971. In: Memrias, Volume I.
131
Alm das 50 entrevistas de discpulos do Ncleo Alto das Cordilheiras, realizadas em Campinas e So Paulo, no perodo de agosto a novembro de 1998.
Você também pode gostar
- Chamadas de ABERTURA Dos Trabalhos Da Fraternidade Rosa Da VidaDocumento2 páginasChamadas de ABERTURA Dos Trabalhos Da Fraternidade Rosa Da VidaThiago C. Gomes95% (22)
- União Do VegetalDocumento6 páginasUnião Do VegetalFabiano Fortes Prates89% (9)
- 9 VegetalDocumento3 páginas9 VegetalCesar Vasconcellos92% (12)
- Jardim Das Flores O Livro Do VegetalDocumento134 páginasJardim Das Flores O Livro Do VegetalCarlos Eduardo Pereira94% (31)
- Jose Laercio Do Egito SalomaoDocumento63 páginasJose Laercio Do Egito SalomaoItaloMA75% (4)
- OaskaDocumento7 páginasOaskaJuciel Lima dos Santos50% (2)
- Estória de Uma Persistente e Corajosa Mariposa Que Durante Toda A Sua Existência Dedicou Sua Vida A Dançar Cada Vez Mais Próxima de Uma Estrela Encantadora Chamada LupunamantaDocumento2 páginasEstória de Uma Persistente e Corajosa Mariposa Que Durante Toda A Sua Existência Dedicou Sua Vida A Dançar Cada Vez Mais Próxima de Uma Estrela Encantadora Chamada Lupunamantaludierludy80% (5)
- Cartilha Manual Pr+ítico para Plantio Mariri e Chacrona - Julio C+®sar J+ NiorDocumento36 páginasCartilha Manual Pr+ítico para Plantio Mariri e Chacrona - Julio C+®sar J+ NiorAnonymous Xd360xRnD100% (2)
- O SER Jose Laercio Do EgitoDocumento94 páginasO SER Jose Laercio Do EgitoTacia Rocha100% (4)
- Ceu Da Ayahuasca e Joao BrandinhoDocumento4 páginasCeu Da Ayahuasca e Joao BrandinhoHelio Marcellus Honorio CarlosAinda não há avaliações
- José Gabriel Da Costa: Trajetória de Um Brasileiro, Mestre e Autor Da União Do VegetalDocumento9 páginasJosé Gabriel Da Costa: Trajetória de Um Brasileiro, Mestre e Autor Da União Do VegetalRacquell Silva Narducci50% (2)
- Chamadas de ABERTURA Dos Trabalhos Da Fraternidade Rosa Da VidaDocumento2 páginasChamadas de ABERTURA Dos Trabalhos Da Fraternidade Rosa Da VidaAmaury JustinoAinda não há avaliações
- Cartilha Plantio e Cultivo de Mariri e ChacronaaDocumento23 páginasCartilha Plantio e Cultivo de Mariri e Chacronaanicole dominguesAinda não há avaliações
- A Religiao Do SentirDocumento10 páginasA Religiao Do SentirEloi Di Magalhães100% (1)
- O Uso Da Ayahuasca e A Experiência de Transformação, Alívio e Cura Na UDVDocumento152 páginasO Uso Da Ayahuasca e A Experiência de Transformação, Alívio e Cura Na UDVguedes_filho9176100% (11)
- Carta de Princípios Das Entidades AyahuasqueirasDocumento2 páginasCarta de Princípios Das Entidades Ayahuasqueirasguedes_filho9176100% (3)
- BRISSAC, Sérgio. A Estrela Do Norte Iluminando Até o SulDocumento163 páginasBRISSAC, Sérgio. A Estrela Do Norte Iluminando Até o SulJoão Carlos Bemerguy Camerini50% (2)
- Sexo ProlongadoDocumento6 páginasSexo ProlongadoHigino Mainini50% (2)
- Manual Do Educador SocioemocionalDocumento5 páginasManual Do Educador SocioemocionalCaroline Souza Garcia100% (2)
- José Gabriel Da CostaDocumento9 páginasJosé Gabriel Da Costaguedes_filho9176100% (6)
- Experiências Com A (Pá) Lavra Na União Do VegetalDocumento185 páginasExperiências Com A (Pá) Lavra Na União Do VegetalFelipe Facklam100% (1)
- UDV Perguntas e RespostasDocumento4 páginasUDV Perguntas e Respostaskroedel100% (3)
- José Gabriel Da CostaDocumento13 páginasJosé Gabriel Da Costamktb195764Ainda não há avaliações
- Encantamento e Disciplina Na Uniao Do Vegetal - RosaDocumento21 páginasEncantamento e Disciplina Na Uniao Do Vegetal - RosaTxai Evan Brandao100% (1)
- Tempos e Saúde Na União Do VegetalDocumento162 páginasTempos e Saúde Na União Do VegetalSaulo Saulo100% (1)
- Chão Da RosaDocumento29 páginasChão Da RosaEduardo TronconiAinda não há avaliações
- "Beber Na Fonte" Adesão e Transformação Na União Do VegetalDocumento273 páginas"Beber Na Fonte" Adesão e Transformação Na União Do VegetalLenço De Seda Cecab100% (1)
- Aniversário Do Mestre Gabriel 2011Documento20 páginasAniversário Do Mestre Gabriel 2011yyzmiller100% (1)
- O Palácio JuramidamDocumento194 páginasO Palácio Juramidamguedes_filho9176100% (2)
- Oaska PDFDocumento180 páginasOaska PDFHelio Marcellus Honorio CarlosAinda não há avaliações
- Lições Da Ayahuasca Na AEUDV Pernambucana - TXT - Wagner - Cadernos - UFSC - 2010Documento35 páginasLições Da Ayahuasca Na AEUDV Pernambucana - TXT - Wagner - Cadernos - UFSC - 2010Wagner Lira0% (1)
- Universidade de Brasília Pós-Graduação em Geografia: Território E Rede Da União Do VegetalDocumento517 páginasUniversidade de Brasília Pós-Graduação em Geografia: Território E Rede Da União Do VegetalHelder MunayAinda não há avaliações
- O Mensageiro de Deus 2Documento183 páginasO Mensageiro de Deus 2Manoel Sena CostaAinda não há avaliações
- A Missão Cósmica de SalomãoDocumento12 páginasA Missão Cósmica de SalomãoGrecoCruz0% (1)
- Encantamento Udv RosaDocumento21 páginasEncantamento Udv RosaLucas Nascimento100% (1)
- Aioasca o LSD Da AmazôniaDocumento3 páginasAioasca o LSD Da AmazôniaGloria Ribeiro Borges100% (1)
- Cartilha Do Departamento de Pesquisa Plantio e Cultivo de Mariri e ChacronaDocumento23 páginasCartilha Do Departamento de Pesquisa Plantio e Cultivo de Mariri e ChacronaRicardo Nascimento100% (1)
- Greganich Santo Daime Udv TrajetoriasDocumento301 páginasGreganich Santo Daime Udv TrajetoriasCamila de PieriAinda não há avaliações
- Encontro Do Mestre Irineu Com A AyahuascaDocumento39 páginasEncontro Do Mestre Irineu Com A Ayahuascaguedes_filho9176Ainda não há avaliações
- Os SonhosDocumento58 páginasOs SonhosAPPARATOR100% (4)
- Sessão UDVDocumento383 páginasSessão UDVLuz MarkentingAinda não há avaliações
- Farmacologia Humana Da Oasca - Chá Preparado de PlantasDocumento15 páginasFarmacologia Humana Da Oasca - Chá Preparado de Plantasguedes_filho9176100% (5)
- Ayahuasca - A Consciência Da ExpansãoDocumento47 páginasAyahuasca - A Consciência Da ExpansãoMateus ViníciusAinda não há avaliações
- Eugenia: Gênero, Sexualidade e Reprodução no México (1920-1940)No EverandEugenia: Gênero, Sexualidade e Reprodução no México (1920-1940)Ainda não há avaliações
- 2011 CarlosAndradeRivasGutierrez VRevDocumento189 páginas2011 CarlosAndradeRivasGutierrez VRevtroll87Ainda não há avaliações
- Telles Los Mazatecos y El Catolicismo ContemporaneoDocumento347 páginasTelles Los Mazatecos y El Catolicismo ContemporaneoChokopanda ChamakoAinda não há avaliações
- Arte - Loucurae Politica No BrasilDocumento172 páginasArte - Loucurae Politica No BrasilGabriel GoncalvesAinda não há avaliações
- Mulheres MetodistaDocumento240 páginasMulheres MetodistaFernanda Cruz100% (1)
- AssentamentosJuremaSagrada Oliveira 2021Documento193 páginasAssentamentosJuremaSagrada Oliveira 2021Georges SalloumeAinda não há avaliações
- A Arte Visionária e A AyahuascaDocumento322 páginasA Arte Visionária e A AyahuascaRocha JessicaAinda não há avaliações
- Etnografia Do Vodu No Haiti PDFDocumento326 páginasEtnografia Do Vodu No Haiti PDFJosé LaertonAinda não há avaliações
- Andresa BarrosDocumento95 páginasAndresa BarrosRamon AlcântaraAinda não há avaliações
- Libertação e Diálogo - A Articulação Entre A Teologia Da Libertação e A Teologia Do Pluralismo Religioso em Leonardo BoffDocumento476 páginasLibertação e Diálogo - A Articulação Entre A Teologia Da Libertação e A Teologia Do Pluralismo Religioso em Leonardo BoffEduardo RosalAinda não há avaliações
- TESE MELZITA 08 Junho 2016 2017Documento493 páginasTESE MELZITA 08 Junho 2016 2017Melissa OliveiraAinda não há avaliações
- TESE José Wellington de Oliveira MachadoDocumento602 páginasTESE José Wellington de Oliveira MachadoFlávia HolandaAinda não há avaliações
- Kowai e Os Nascidos: A Mitopoese Do Parentesco Baniwa - JViannaDocumento397 páginasKowai e Os Nascidos: A Mitopoese Do Parentesco Baniwa - JViannaJoão ViannaAinda não há avaliações
- Aline Moreira Magalhães - Tupinambá de OlivençaDocumento151 páginasAline Moreira Magalhães - Tupinambá de OlivençaThiago FlorencioAinda não há avaliações
- S CuraDocumento301 páginasS CuraAtentia SentipensanteAinda não há avaliações
- Versao Final Tese Polyana Word 1Documento218 páginasVersao Final Tese Polyana Word 1Fill MaiaAinda não há avaliações
- Ruido 101213095615 Phpapp01Documento15 páginasRuido 101213095615 Phpapp01fabrizioAinda não há avaliações
- 1 Atividade Show Da LunaDocumento42 páginas1 Atividade Show Da LunaSimoneHelenDrumondAinda não há avaliações
- Odu: OkaranDocumento4 páginasOdu: OkarannutribrunoAinda não há avaliações
- Carl Gustav JungDocumento26 páginasCarl Gustav JungWallace ArêasAinda não há avaliações
- Uma Entrevista InesquecívelDocumento2 páginasUma Entrevista InesquecívellifeplanAinda não há avaliações
- O Mito AfricanoDocumento7 páginasO Mito AfricanoOlavo SoleraAinda não há avaliações
- Hábitus ClivadoDocumento4 páginasHábitus ClivadoMarco Silva100% (1)
- Catálago de PsicopedagogiaDocumento32 páginasCatálago de Psicopedagogiaezequielrs100% (1)
- O Processo de EnfermagemDocumento9 páginasO Processo de EnfermagemthatyannaferrazAinda não há avaliações
- 17 Alunos Prova Recuperação 2 Serie Produção 2º Bim.Documento3 páginas17 Alunos Prova Recuperação 2 Serie Produção 2º Bim.Oziel SoaresAinda não há avaliações
- O Que É Mal de ParkinsonDocumento28 páginasO Que É Mal de ParkinsonKisha ChavezAinda não há avaliações
- Formacao Disc Capdf 18017166Documento4 páginasFormacao Disc Capdf 18017166Leonardo VieiraAinda não há avaliações
- A Carta de Atenas e Os CIAMSDocumento32 páginasA Carta de Atenas e Os CIAMSisabelaAinda não há avaliações
- Beleza RealDocumento81 páginasBeleza RealJaqueline Gomes de Jesus100% (1)
- RP - Português - 8º AnoDocumento5 páginasRP - Português - 8º AnoAndré AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Fundamentos Universais D OReiki - Conrado - SegalDocumento27 páginasFundamentos Universais D OReiki - Conrado - SegalAlan DemarcosAinda não há avaliações
- Mulheres BrilhantesDocumento19 páginasMulheres BrilhantesSimone Benitez100% (1)
- Relato de Projeto Com MinhocasDocumento8 páginasRelato de Projeto Com MinhocasLucas Da Silva MartinezAinda não há avaliações
- Essencialismo e Construtivismo, Balanço Teórico HeilbornDocumento40 páginasEssencialismo e Construtivismo, Balanço Teórico HeilbornManoel MotaAinda não há avaliações
- Politicas Publicas - EducacaoDocumento17 páginasPoliticas Publicas - EducacaoPosto AripuananAinda não há avaliações
- Genio Da Lingua PortuguesaDocumento3 páginasGenio Da Lingua Portuguesactp hodayahAinda não há avaliações
- Francisco Teixeira PensandocomMarxDocumento301 páginasFrancisco Teixeira PensandocomMarxHerbertt LimaAinda não há avaliações
- RevsitaCadernosDeCampo PDFDocumento443 páginasRevsitaCadernosDeCampo PDFNatalia QuicenoAinda não há avaliações
- A Educadora No Nido MontessoriDocumento12 páginasA Educadora No Nido MontessoriNubia Fernandes100% (1)
- Filosofia 2Documento14 páginasFilosofia 2Rose LimaAinda não há avaliações
- 3oANO - Semio.aula - Exame Neurologico - 2006Documento57 páginas3oANO - Semio.aula - Exame Neurologico - 2006deborakcds100% (1)
- Artigo Contos Proibidos Do Marquês de SadeDocumento12 páginasArtigo Contos Proibidos Do Marquês de SadeReginâmioAinda não há avaliações