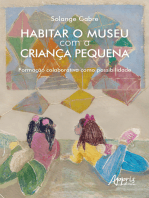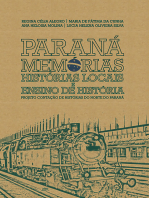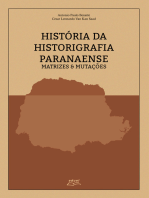Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cadernos 01 1993
Cadernos 01 1993
Enviado por
Lai JuddTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cadernos 01 1993
Cadernos 01 1993
Enviado por
Lai JuddDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
Cadernos de
Museologia
Centro de Estudos de Socio-Museologia
ISMAG/ULHT
Universidade Lusfona de Humanidades e Tecnologias 1-1993
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
NDICE
Apresentao ................................................................................ 3
Mrio MOUTINHO Sobre o Conceito de Museologia Social ............... 5
Agostinho RIBEIRO Novas Estruturas / Novos Museus ................................................ 9 Maria Madalena CORDOVIL Novos Museus Novos Perfis Profissionais .......................................................... 17 Lus MENEZES O Primado do Discurso Sobre o Efeito Decorativo ........................................................... 29 Jos Manuel BRANDO Conservador e Muselogo: Abordagem de Conceitos Texto 1 ........................................................................................ 37 Ana Maria LOUSADA Conservador e Muselogo: Abordagem de Conceitos Texto 2 ....................................................................................... 43 Francisco CLODE SOUSA Museologia e Comunicao Texto 1 ........................................................................................ 49 Teresa AZEREDO PAIS Museologia e Comunicao Texto 2 ........................................................................................ 59 Lus MENEZES A Evoluo de Conceitos entre as Declaraes de Santiago e de Caracas Texto 1 ........................................................................................ 77 Francisco PEDROSO de LIMA A Evoluo de Conceitos entre as Declaraes de Santiago e de Caracas Texto 2 ........................................................................................ 85 Joo Paulo MEDEIROS CONSTANCIA A Evoluo de Conceitos entre as Declaraes de Santiago e de Caracas Texto 3 ....................................................................................... 95 Otlia MORGADO F. JORGE Evoluo de Conceitos entre as Declaraes de Santiago e de Caracas
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
Texto 4 ....................................................................................... 103 Jos Manuel BRANDO International Summer School of Museology (ICOM/UNESCO) ..................................................................... 111 Ana Maria LOUSADA; Maria Leonor CARVALHO; Otlia JORGE e Leonor TAVARES Estgio de Museologia no Centre International en Formation comuseal, Quebeque: Balano de Quatro Estagirias ................................................... 125
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
APRESENTAO
Efeito e causa da verdadeira revoluo terica e prtica que, nos ltimos tempos, vem tendo lugar na rea das Cincias do Patrimnio e da Museologia, o Curso de Especializao em Museologia Social, quer pela sua qualidade substantiva quer pela quantidade das pessoas j formadas, deu um contributo decisivo para a consolidao entre ns, das novas vidncias e vivncias museolgicas, que se procuraram sintetizar na designao terminolgica e epistemologivamente inovadora de Museologia Social ou Socio-Museologia. No momento em que em que o referido Curso de Especializao em Museologia Social se vai transformar no primeiro Curso de Mestrado do ISMAG/ULHT e em ordem prossecuo, intensificao e alargamento dos seus objectivos originais, criado no mbito da mesma Universidade Lusfona de Humanidades e Tecnologias o Centro de Estudos de Socio-Museologia (CESM).
Nada melhor que estas palavras fundadoras do Centro de Estudos de Socio-Museologia (Ordem de servio de 26 de Maro de 1993) para colocar nas primeiras pginas de uma iniciativa como a dos Cadernos de Museologia, a qual vem demonstrar com factos (que, por sinal, tambm so palavras escritas) a verdade daquelas afirmaes, alm de constituir, para os demais centros e reas de estudo da ULHT, o "bom exemplo", que dever servir no de imitao, mas de inspirao... Na sua voluntria discreo, no poderiam estes Cadernos de Museologia constituir tambm os primeiros passos em ordem a uma j necessariamente menos discreta Revista de Humanidades e Tecnologias do conjunto de todos os departamentos e outras unidades cientfico-acadmicas da ULHT ? Lisboa, 20 de Setembro de 1993 Fernando dos Santos Neves Reitor da ULHT
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
SOBRE O CONCEITO DE MUSEOLOGIA SOCIAL Mrio MOUTINHO
O conceito de Museologia Social, traduz uma parte considervel do esforo de adequao das estruturas museolgicas aos condicionalismos da sociedade contempornea. Este esforo de adequao, reconhecido e incentivado pelas mais importantes instncias da museologia, foi sintetisado pelo Director Geral da Unesco, Frederic Mayor, na abertura da XV Conferncia Geral do ICOM da seguinte forma: o fenmeno mais geral do desenvolvimento da conscincia cultural - quer se trate da emancipao do interesse do grande pblico pela cultura como resultado do alargamento dos tempos de lazer, quer se trate da crescente tomada de conscincia cultural como reao s ameaas inerentes acelerao das transformaes sociais tem no plano das instituies, encontrado um acolhimento largamente favorvel nos museus. Esta evoluo evidentemente, tanto, qualitativa como quantitativa. A instituio distante, aristocrtica, olimpiana, abcecada em apropriar-se dos objectos para fins taxonmicos, tem cada vez mais - e alguns disso se inquietam - dado lugar a uma entidade aberta sobre o meio, consciente da sua relao orgnica com o seu prprio contexto social. A revoluo museolgica do nosso tempo - que se manifesta pela apario de museus comunitrios, museus 'sans murs', ecomuseus, museus itinerantes ou museus que exploram as possibilidades aparentemente infinitas da comunicao moderna - tem as suas razes nesta nova tomada de conscincia orgnica e filosfica". Este processo anunciava-se j na Declarao de Santiago (1972 UNESCO/ICOM) onde se considerava tambm: Que o museu uma instituio ao servio da sociedade da qual parte integrante e que possui em si os elementos que lhe permitirem participar na formao da conscincia das comunidades que serve; que o museu pode contribuir para levar essas comunidades a agir, situando a sua actividade no quadro histrico que permite esclarecer os problemas actuais, ... Que esta nova concepo no implica que se acabe com os museus actuais nem que se renuncie aos museus especializados mas que pelo contrrio esta nova concepo permitir aos museus de se desenvolver e evoluir de maneira mais racional e mais lgica a fim de se melhor servir a sociedade ... Que a transformao das actividades do museu exige a mudana progressiva da mentalidade dos conservadores e dos
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
responsveis dos museus assim como das estruturas das quais eles dependem;". Na Declarao de Caracas de 1992,que o ex-presidente do ICOM, Hugues de Varine, considerou como a mais profunda reflexo colectiva sobre museus e museologia dos ltimos vinte anos estes princpios so claramente reafirmados e considerados como fundamentais para o desenvolvimento da museologia e estruturam a prospectiva apresentada no Relatrio de Sntese da XVI Conferncia Geral do ICOM. A abertura do museu ao meio e a sua relao orgnica com o contexto social que lhe d vida tem provocado a necessidade de elaborar e esclarecer relaes, noes e conceitos que podem dar conta deste processo. O alargamento da noo de patrimnio, a consequente redefinio de "objecto museolgico", a ideia de participao da comunidade na definio e gesto das prticas museolgicas, a museologia como factor de desenvolvimento, as questes de interdisciplinaridade, a utilizao das "novas tecnologias" de informao e a museografia como meio autnomo de comunicao, so exemplo das questes decorrentes das prticas museolgicas contemporneas e fazem parte de uma crescente bibliografia especializada. Em Portugal, apesar deste movimento ser mais recente, deve-se reconhecer que estas questes tm sido amplamente debatidas no presente contexto de descentralizao, de reforo do poder autrquico e da democratizao da vida cultural e associativa. Refira-se a ttulo de exemplo e em particular as "Jornadas sobre a funo social do Museu" organizadas pelo MINOM (Movimento Internacional para uma Nova Museologia) em Vila Franca de Xira 1988, Portimo 1989, Vilarinho da Furna 1990, Lisboa 1991 e Setbal 1992 e os "Encontros Nacionais de Museologia e Autarquias" que j tiveram lugar em Lisboa 1990, Beja 1991 e Setbal 1992. A importante participao nessas reunies de muselogos, conservadores, autarcas, responsveis associativos, investigadores e professores universitrios, ligados sempre e de formas diferentes a processos museolgicos que cobrem todo o pas, testemuham claramente que a comunidade museolgica portuguesa se integra e cada vez mais actora neste processo geral de transformao, renovao e inovao que percorre os museus e a museologia. pois neste contexto nacional e internacional, que a formao no domnio da museologia, deve ser entendida como um factor fundamental no desenvolvimento das nossas estruturas museolgicas, Esta formao que em nosso entender deve ter obrigatoriamente por base o quadro geral da museologia, tal como est definido no Art. 3 do Estatuto do ICOM, deve ter tambm em considerao as novas condies sociais da produo museolgica.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
NOVAS ESTRUTURAS/NOVOS MUSEUS
Agostinho RIBEIRO
Constitui um interessante desafio, poder discorrer livremente sobre alguns fenmenos conceptuais em torno das mais recentes correntes museolgicas, num exerccio meramente acadmico e sem outra finalidade que no seja a de expr algumas dvidas e interrogaes sobre a razo de ser, funo e utilidade da chamada "nova museologia". O ttulo proposto, quer pelos equvocos que pode sugerir, quer pela amplitude das abordagens que permite, , desde logo, motivador para uma profunda reflexo e potenciador de um sem nmero de questes que nova museologia cabe interpretar e responder positivamente. Com efeito, "Novas Estruturas/Novos Museus" pressupe, por oposio, a existncia (e eventual falncia) das "velhas estruturas" e, consequentemente, dos "velhos museus". Ter algum fundamento esta oposio novo/velho, no sentido da to falada e discutida ruptura epistemolgica primordial ou, pelo contrrio, possvel e desejvel o encontro de solues de compromisso entre as velhas e novas estruturas, entre os velhos e os novos museus? Ou ento no estaremos a discorrer sobre realidades cuja natureza se nos apresentam de tal forma diferentes na funo e objectivos institucionais que deixa de fazer sentido tal dicotomia? Ou, finalmente, os novos museus no so mais que a resposta actual s necessidades e preocupaes que a sociedade contempernea encerra, provado que est o desajuste de alguns museus j existentes? Far sentido exercitar a possibilidade de, a partir de estruturas pr-existentes, ensaiar a criao de novos museus ou, pelo menos, a renovao dos seus programas museolgicos? E isto ser nova museologia tradicional adaptada s novas circunstncias, por operaes de cosmtica? O que faz, em rigor, a diferena entre os velhos e novos museus? A funo? Os mtodos? Os objectivos? A que novas estruturas nos poderemos referir para potenciar a existncia de novos museus? Estruturas sociais? Polticas? Econmicas? Culturais? Todas? Nenhumas? Algumas...? So todas estas questes e interrogaes que iro merecer alguns comentrios, a partir do tema proposto, conscientemente provocador, na senda, alis, dos grandes debates e discusses de princpios a que nos fomos habituando ao longo das sesses da cadeira "A Funo Social do Museu". Se do ponto de vista sociolgico uma estrutura se define, grosso modo, como o conjunto de partes organizadas que mantm entre si relaes de interdependncia com alguma consistncia e
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
durabilidade, tal realidade de conjunto nunca poder ser considerada como algo rgido e imutvel mas sim como um todo dinmico em permanente transformao. Nesta perspectiva de base sociolgica um museu pode ser considerado uma subestrutura em permanente relao e interdependncia com as restantes subestruturas que, no seu conjunto formam o todo social. Se o desajuste existe, ou seja, se o museu no mantm nem potencia tais relaes, a sua prpria razo de ser deixa de ser vlida ou importante para o conjunto. Perdida a noo desta relao a sua utilidade passa a ser discutvel e a sua funo perde eficcia. Neste contexto, no importa distinguir se estamos perante novas ou tradicionais correntes museolgicas. Vale para todas na medida em que todas se constituem e existem em funo do todo social. A diferena residir nas inadaptaes de algumas destas subestruturas por razes de natureza, a mais das vezes, operacional. A inadaptao tcnica e/ou humana estar quase sempre na base destes desajustes. Com efeito, um museu, independentemente do seu programa, espao e coleces, possui em si mesmo todo o potencial e apetncia indispensveis para uma correcta e eficaz insero no todo social. O protagonismo humano, tcnico e profissional, que dar possibilidades ou no de insero nesse mesmo todo. Isto remete-nos para o grande e grave problema da formao, que deve ser activa e permanente para, precisamente o factor humano consiga adaptar-se e adequar estratgias ao constante movimento e mutaes que a sociedade contempornea traduz. Assim, para podermos progredir numa reflexo cuidada em torno das novas estruturas que caracterizam os tecidos sociais actuais, eles prprios em constante movimento, imprescindvel proceder a uma caracterizao, ainda que muito sumria, da prpria sociedade, aos diversos nveis perceptveis para a maioria das pessoas. Na sua totalidade, isto , escala planetria, pe-se em evidncia as grandes dicotomias que no s a identificam como tambm resultam mais sensveis percepo humana. So os grandes problemas ou, para utilizar uma expresso mais corrente na cadeira, as grandes angstias com que a humanidade se debate, tantas vezes impotente para resolv-las, dadas a amplitude e natureza das mesmas. Caracterizar a sociedade actual no tarefa fcil e o rigor de tal anlise sempre muito discutvel, porque subjectiva na valorao dos fenmenos polticos, econmicos, sociais e culturais dos seus autores. A grande questo a de saber o que marca e define, verdadeira e decisivamente a sociedade actual, do ponto de vista universal? A verdadeira revoluo tecnolgica que, por exemplo, ao nvel das telecomunicaes, produziu a "aldeia global"? O extraordinrio desenvolvimento cientfico que permite a manipulao e domnio em reas do saber que vo do infinitamente grande ao infinitamente pequeno?
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
A abundncia e o desperdcio dos pases e continentes ricos em oposio fome e misria dos cada vez mais pobres? O fim das ideologias ou a ditadura de uma s, no contexto poltico internacional? A vitria do consumismo versus capitalismo selvagem num permanente sacrifcio do equilbrio social (identidades socio-culturais prprias) e natural (degradao permanente e irresponsvel do ambiente)? Desprezo alarmante pelos mais elementares direitos do ser humano e da vida em geral, em certas reas do globo, em oposio assuno, por vezes ridcula e hipcrita, noutras, em funo de meros interesses economistas? Exploso de fundamentalismos religiosos e rcicos? Choques de cultura ou profundas resistncias ao fenmeno cada vez mais sentido de aculturao? E os Museus? Que papel podem e devem desempenhar no meio disto tudo, ou seja, como estrutura crtica e interveniente no processo de desenvolvimento econmico, social e at mesmo poltico? Tero os museus obrigaes e responsabilidades em reas que, partida, parecem distantes da sua vocao especfica? No documento final das resolues adoptadas pela Mesa Redonda de Santiago, so precisamente estes fenmenos os que merecem maior destaque declarativo. Estamos perante uma situao que vai muito mais alm do que uma mera tomada de conscincia e posio pblicas sobre assuntos que afligem a comunidade internacional. Com efeito, esta declarao promove e anuncia um novo tipo de museu, que pouco ou nada tem que ver com os museus ditos tradicionais, quase exclusivamente vocacionados para a recolha, classificao e preservao do patrimnio e sua consequente exposio com fins educativos e de recreio. O museu "integral" insere, no mbito especfico das suas actividades, preocupaes de carcter social e defende a participao alargada da comunidade como justificao ltima da sua prpria essncia e razo de ser. O museu passa a ser um instrumento de interveno capaz de mobilizar vontades e esforos para a resoluo de problemas comuns, no seio das comunidades humanas onde se encontra. Os espaos e as coleces passam a plano "secundrio" e a "pessoa", singular e/ou colectiva, assume o papel primordial no processo museolgico. Tudo funciona e se justifica num quadro de profundas relaes e trocas sociais, em reas to aparentemente diversas que vo da animao cultural ao desenvolvimento econmico, passando pelas funes tradicionais que aos museus suposto cometer. A declarao de Santiago, no fundo, constata uma realidade especfica (Amrica Latina) com todas as suas contradies e injustias para, seguidamente, propr uma actuao
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
10
museolgica que tenha em conta estas realidades e as consiga, seno resolver, pelo menos minimizar. Pela extrapolao, a proposta vlida para todo o lado, salvaguardadas que devem estar as respectivas especifidades comunitrias, num processo de adequao s realidades concretas de cada zona do globo. O que est em causa no , propriamente, a descoberta da panaceia universal, mas to somente a prestao de um contributo que pode ser, em diversas circunstncias, decisivo para a resoluo de problemas de cariz social, por mais pequenos e irrelevantes que eles nos possam parecer primeira vista. Curiosamente, toda a declarao nos remete para uma proposta de profundas mudanas, sobretudo ao nvel das atitudes dos responsveis, de estruturas museolgicas pr-existentes no absolutamente necessrio que, para se conseguir atingir tais objectivos, se criem novas estruturas e se construam novos museus, como se esta fosse uma questo vital para a sobrevivncia das novas correntes museolgicas. possvel, embora se reconhea difcil, "contruir" novos museus a partir dos museus existentes. Tudo depende, afian, do labor humano que em torno da estrutura se pode, ou no, construir. Um museu dito tradicional, pode, em qualquer momento, revr o seu programa, reformular os seus espaos, repensar as suas coleces, formar e actualizar os seus quadros, integrando novas funes mais compatveis com os desafios da sociedade contempornea. Do ponto de vista terico, nada impede que tal acontea. Na prtica, sabemos bem que as resistncias so muitas e as possibilidades de xito bastante reduzidas. No entanto, este ser um exerccio aliciante e construtivo para quem quiser e ousar p-lo em prtica. importante que as barreiras que separam a "nova" museologia da "tradicional", se esbatam e se tente construir um espao intermdio de interveno que resulte em algo mais que simples actualizaes dos esquemas tradicionais, to gratos maioria dos museus existentes sem chegar ao ponto de negar a herana museal que a identifica e, de certo modo, a justifica. Resta pois considerar que desejvel que os novos museus surjam e laborem a partir de novas estruturas. Isso inquestionvel, mais que no fosse, por uma questo de eficcia. Tal no implica, entretanto, as reais possibilidades e pouco exploradas apetncias dos existentes, capazes de tambm contribuir para uma nova museologia, mais virada para o homem que para o objecto. At porque qualquer objecto s tem valor e tem valor precisamente porque foi construdo pelo homem.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
11
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
12
NOVOS MUSEUS NOVOS PERFIS PROFISSIONAIS
Maria Madalena CORDOVIL
I - INTRODUO A recente Declarao de Caracas considera no seu ponto 6 que a "profissionalizao do pessoal dos museus uma prioridade que esta instituio deve encarar como premissa para contribuir para o desenvolvimento integral das populaes" (p. 13). A esta recomendao subjaz a ideia de que a formao do muselogo deve "torn-lo capaz de desempenhar as tarefas interdisciplinares prprias do museu actual, ao mesmo tempo que dot-lo dos elementos indispensveis para exercer uma liderana social, uma gesto eficiente e uma comunicao acertada" (id. p. 13). Ora, este novo perfil profissional dos trabalhadores dos museus proposto pelos participantes do Seminrio de Caracas, supe, igualmente, a existncia de um "novo Museu". Antes de definir o perfil do novo muselogo impe-se, ento, percorrer a histria mais recente da museologia e verificar quando, de que maneira e que circunstncias determinaram que o conceito de Museu tivesse sido alterado, bem como os novos contedos que tal conceito integra hoje. Para tanto servimo-nos das ideias e do debate suscitados ao longo do ano, no apenas nas sesses de "Funo Social dos Museus", mas dos contributos de outras reas e socorremo-nos de bibliografia suplementar quela que foi fornecida, sobretudo, para verificar como, no caso portugus, as ideias de "novo Museu" e de "novo muselogo" tm sido entendidas e aplicadas.
II - O NASCIMENTO DA NOVA MUSEOLOGIA Durante mais de um sculo o Museu permaneceu como uma instituio inquestionada. Local de "culto" e repositrio do prestgio da sociedade dominante, o Museu a difundindo a sua "coleco" a um "pblico" que se pretendia variado e que nela se revia ou no, mas, ao qual eram transmitidos os valores que as peas veiculavam. A emergncia de novos paradigmas sociais, econmicos e polticos na segunda metade do nosso sculo vem afectar todas as estruturas e instituies. A tais mudanas no escapou a instituio Museu. De facto, logo no imediato ps-guerra, a aco de Georges-Henri Rivire comea a fazer sentir-se, primeiro em Frana e, depois, um pouco por toda a parte. No incio dos anos 60 uma equipa liderada por Hugues de Varine-Bohan transforma todo um territrio econmica e
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
13
socialmente degradado no Ecomuseu de Cresot com a participao da populao. (Provavelmente nasceu ento o termo e constituiu-se o conceito de Ecomuseu). Experincias semelhantes desenvolveram-se, ento, na Europa e no continente americano. Aproveitando as especificidades latino-americanas e o momento particular que ento se vivia no Chile, o ICOM promove em 1972 a Mesa Redonda de Santiago significativamente dedicada ao tema "O desenvolvimento e o papel dos Museus no mundo contemporneo". Logo a, no tema mesmo da Mesa Redonda, se introduzem duas ideias inovadoras no que respeita museologia, aos seus fins e mtodos: por um lado, a ideia de que o desenvolvimento dos povos algo que tem a ver tambm com os museus e, por outro, a ideia de que o Museu no apenas repositrio de coleces do passado mas que a sua aco tem que ver com a contemporaneidade. A declarao final afirma "a necessidade de uma tomada de conscincia pelos Museus da situao presente e a necessidade para estes de desempenhar um papel decisivo num mundo em transformao", ao mesmo tempo que lembra que a abordagem da realidade socio-cultural deve ser multidisciplinar e interdisciplinar. Abrem-se, ento, as portas existncia de um Museu de novo tipo que se adapte e sirva as pequenas comunidades locais e regionais. A esta museologia de cariz popular a declarao chama Museu Integral e define-a como vocacionada para "situar o pblico no seu mundo para poder tomar conscincia da sua problemtica enquanto indivduo e homem-social". Do mesmo modo, as experincias estimuladas pela Mesa Redonda de Santiago, visavam transformar o Museu num organismo vital para a Comunidade e num instrumento eficaz para o seu desenvolvimento integral, como vinte anos mais tarde, reconheceram os participantes do Seminrio de Caracas. O desenvolvimento de tais experincias museais, um pouco por todo o mundo, levou primeira reunio internacional da Nova Museologia que teve lugar no Quebc em 1984. Pouco tempo depois, realizou-se no Mxico uma reunio que juntou alguns dos participantes do Quebc a outros latino-americanos. A declarao final desta assembleia, conhecida como Declaratoria de Oaxtepec, da mxima importncia porque define claramente o novo tipo de Museu, adaptado aos novos tempos, assimilando os conceitos de ecomuseologia e da nova museologia e pondo a tnica no desenvolvimento e no equilbrio ecolgico. A se afirma: "O museu tradicional produz-se num edifcio, com uma coleco e para um pblico determinado. Trata-se agora de ultrapassar estes princpios substituindo-os por um territrio, um patrimnio integrado e uma comunidade participativa." Mais se afirmava ento, que um tal museu constitua um "Acto pedaggico para o ecodesenvolvimento". Estamos, de facto, perante uma nova concepo de Museologia e um novo tipo de Museus e no se trata j de adaptar ou ampliar as funes do museu tradicional.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
14
A escassez do espao disponvel no permite uma anlise cuidada dos pressupostos e das concluses das duas declaraes em apreo, mas no podemos deixar de sublinhar, pela sntese que representa, o seguinte ponto da Declaratoria de Oaxtepec: " necessrio fortalecer e desenhar aces que integrem vontades polticas conscientes, a fim de preservar a cultura viva, o patrimnio material, o desenvolvimento scio-econmico e a dignidade humana". Curiosamente, mas mais tarde, em 1987, durante o III Atelier Internacional da Nova Museologia, reunido em Arago, Ren Rivard, retomou as mesmas ideias ao afirmar que "A nova museologia tem essencialmente por misso favorecer por todos os meios, o desenvolvimento da cultura crtica no indivduo e o seu desenvolvimento em todas as camadas da sociedade como melhor remdio para a desculturizao, a massificao ou a falsa cultura". E mais adiante: "Dependendo do tipo de instituio na qual opera, a nova museologia, utiliza, ento, as culturas etnolgicas e as culturas eruditas para proporcionar o desenvolvimento desta cultura crtica que permite adquirir o sentido da qualidade, libertar-se dos esteretipos e portanto, assegurar ao maior nmero uma estratgia de vida individual e colectiva do mesmo modo que uma identidade mais forte". (Museologie et Cultures, p.p. 3/4. Sublinhados do autor). Para o desenvolvimento desta conscincia cultural e patrimonial como meios de desenvolvimento integral, os participantes da Assembleia de Oaxtepec recomendavam: . "Formao de promotores seleccionados no prprio meio. . Criao de estruturas associativas. . Criao de uma museografia popular, incluindo inventariao, conservao, apresentao, valorativa e difuso. . Preparao e participao de profissionais para um dilogo consciente com a comunidade". O que, definido que est o Novo Museu, implica que se encontre para ele o perfil do profissional adequado.
III. O NASCIMENTO DO NOVO MUSELOGO 1 - O Desenvolvimento - Novo Desafio dos Museus.
A Mesa redonda de Santiago do Chile sublinhava com nfase a "orientao eminente social do papel da museologia". Tal directiva foi assumida e reforada em Oaxtepec. Esta declarao vai mesmo mais longe ao terminar afirmando ver na "museologia um instrumento para o livre desenvolvimento das comunidades". Duas dcadas decorridas, os participantes reunidos em Caracas reafirmam esta funo social do museu atribuindo-lhe uma nova dimenso que " a de ser protagonista do seu tempo"
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
15
e conclamam os trabalhadores do museu a "assumir a dinmica da mudana e a preparar-se para enfrentar com xito o desafio". Entretanto, em Portugal, inmeros textos, sobretudo da ltima dcada, do igualmente conta desta preocupao. que, tambm entre ns, o desenvolvimento passou a estar no centro das preocupaes dos museus. Pode bem dizer-se que o desenvolvimento agora o novo desafio. Em praticamente todos os Encontros celebrados desde 1985 at aos nossos dias (Jornadas Sobre a Funo Social do Museu: Encontros Nacionais sobre Museologia e Autarquia) encontramos temticas, comunicaes, concluses e recomendaes que versam o problema do desenvolvimento das comunidades. Tal reflexo terica, que no cabe aqui analisar exaustivamente, chegou a definir os contornos do modelo de desenvolvimento que se requer desenvolvimento integrado por oposio ao simples crescimento econmico - e a posicionar perante esse desafio os vrios intervenientes: populao, muselogos, poder autrquico, poder poltico central. Bem como, a redefinir os elementos constituintes do Museu. 2 - O Papel do Muselogo no Museu Tradicional Em comunicao apresentada s Ias Jornadas Sobre a Funo Social do Museu, Rui Parreira d conta dos equvocos que envolvem a designao de Muselogo. De facto, no museu tradicional, o Muselogo era identificvel ao Conservador. Ora, nesse tipo de instituies, o conservador tem a seu cargo a preservao da coleco, o seu equilbrio fsico e qumico, uma vez que os objectos esto deslocados do seu contexto ambiental e histrico e a sua apresentao a um pblico, que se pretende vasto. Isto equivale a dizer que o conservador um especialista, com formao acadmica adequada, na administrao, na conservao e no restauro de peas. Raramente se ocupa da investigao aprofundada do patrimnio que tem sua guarda e por vezes, realiza actividades de extenso cultural. Como j atrs demos conta, o novo conceito de Museu, definido a partir da Mesa Redonda de Santiago, deitou abaixo as barreiras, entre o objecto e os seus utentes ao substituir o conceito de pblico pelo de populao e comunidade; deixou de sacralizar o objecto ao mant-lo no seu enquadramento histrico e ambiental, falando-se agora de patrimnio integrado, humanamente valorizado; e aboliu mesmo o conceito e a necessidade do edifcio, substituindo-o por todo o territrio em que a comunidade exerce a sua actividade e influncia. Desde logo, a funo do conservador deixa de ter, neste tipo de Museu, o enquadramento anterior. No s as tarefas so diversas, como h que contar, aqui, com a interveno de outros agentes - a comunidade, e ainda, o destino e o usufruto do patrimnio assumem um carcter distinto daquele que tm no Museu tradicional.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
3 - O Novo Muselogo
16
Ao novo Museu incumbem ento diferentes funes, muito para alm da tradicional conservao de uma coleco. O IV Atelier da Nova Museologia define como objectivos comuns do Museu a favor das populaes: * favorecer a tomada de conscincia, contribuir para o despertar da dimenso poltica, cultural e social com vista reapropriao do territrio, do patrimnio para um autodesenvolvimento individual e colectivo; * estimular a criatividade em funo de uma qualidade de vida, da felicidade e do prazer; * favorecer as trocas culturais reconhecendo o saber das populaes. (Cadernos de Minom, n1, p. 13). Por outro lado, claro que esta aco se faz com as populaes e para elas, pondo sempre a tnica na liberdade e na criatividade das prprias comunidades. Tais intenes ressaltam nas concluses do grupo III das citadas Ias Jornadas, quando se afirma que "a museologia (... instrumentos...) a par de outros, de desenvolvimento integral das populaes e com as populaes". (p. 33). E mais adiante: "nesse sentido, o que h de novo nas prticas da Nova Museologia a demonstrao da capacidade (e a prtica disso) de as populaes se auto-organizarem para gerir o seu tempo e o seu futuro". Ou ainda "a aco da N. M. supe a aco criadora da populao no seu prprio desenvolvimento, ainda que haja a conscincia de que essa participao se manifesta de modo vrio, respeitando a diversidade de interesses, o grau de desenvolvimento e as necessidades em nmero de participantes em cada projecto (...)". E a finalizar: "o novo Museu um agente de desenvolvimento atravs de um trabalho criador e de sentido libertador feito pela populao (em que se integra a equipa museal), para a populao (...)", (p.34). O mesmo documento d um assinalvel contributo para a definio, o enquadramento e o papel do muselogo ao afirmar que se reconhece "o carcter mais vasto da aco do museu e do muselogo que no pode confinar-se aco cultural (que no entanto essencial) e ao espao local, mas reveste muitas vezes o carcter de intervenes nos domnios do social, do econmico e at, do poltico (...)". Adiante e nas mesmas concluses, afirma-se: "Na perspectiva do desenvolvimento integral da populao a primeira obrigao do Museu e da equipa museal detectar as carncias do meio e responder-lhes de modo correcto e eficaz (...) na detectao e resposta a esses problemas tm papel fundamental os tcnicos (muselogos, investigadores, animadores, agentes de desenvolvimento...) cuja aco se desenrola em ligao com os restantes elementos que integram o projecto e tem de ser sempre orientado para a resoluo dos interesses da populao. Nesse sentido o Museu um centro de formao de criadores".
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
17
Do que acima fica transcrito ressalta que o muselogo do novo Museu um profissional de tipo novo, que, alm do domnio das reas tradicionais da museologia (que me parece no deverem ser esquecidas), tem de ser capaz de detectar e gerir os problemas com que se defronta a comunidade, de responder a solicitaes variadas que vo das questes culturais s socioeconmicas e polticas. Tem de ser capaz de integrar uma equipa que tome as decises aos vrios nveis, empreender, incentivar ou coordenar os vrios trabalhos de investigao que decorram na rea do Museu e finalmente, gerir o Museu. Tal perfil implica um muselogo capaz de se integrar na populao e se manter com ela um dilogo permanente. Um profissional deste tipo tem naturalmente de ser polivalente e de possuir uma formao transdisciplinar. O que pe, finalmente, o problema da formao de muselogos para criar museus. 4 - Comunicao e Linguagem Sejam quais forem os problemas concretos com que se defronta cada projecto museal, os muselogos sabem que "a funo museolgica , fundamentalmente, um processo de comunicao que explica e orienta as actividades do museu (...)". (Declarao de Caracas, p.6). A linguagem especfica do museu deve merecer ao muselogo e a toda a equipa um cuidado especial. De facto, as linguagens utilizadas devem ser variadas e facilmente descodificveis por todos os pblicos de modo a que a comunicao seja eficaz e tenha utilidade. Alm de que a comunicao no museu deve ser sempre entendida como um processo multidireccional e interactivo capaz de manter "um dilogo permanente que contribua para o desenvolvimento e o enriquecimento mtuos e evite a possibilidade de manipulao ou imposio de valores e sistemas de qualquer tipo". (id. p.7). Semelhante ideia j tinha de resto, sido afirmada nas Concluses das Ias Jornadas Sobre a Funo Social do Museu. Os principais textos tericos da Nova Museologia, nomeadamente a Declarao de Caracas, insistem ainda em que o museu dirija o seu discurso para o presente, mostrando que os objectos tm significado na cultura e na sociedade contempornea e so por elas iluminados, e no apenas como meros testemunhos da produa cultural do passado, para concluir que, "nesse sentido o processo importa mais do que o produto" (id. p.8) Quanto s tecnologias ou informao, que esto omnipresentes no mundo actual, a Declarao de Caracas aponta para que se aproveitem os seus benefcios e ensinamentos, utilizando-os de modo crtico, ao mesmo tempo que se aproveita a sua utilizao para desmistificar o uso de tecnologias sofisticadas sempre que seja em proveito do homem na sua integridade. Eis, pois uma nova vertente do perfil do novo muselogo.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
18
IV - A FORMAO DOS NOVOS MUSELOGOS Definidos que esto o novo museu e o perfil do novo muselogo, no queremos terminar sem abordar uma questo que nos parece essencial: a formao dos novos profissionais qual as instituies tradicionais no poderiam ter dado resposta. J as Declaraes de Santiago e de Oaxtepec insistiam em dois tems fundamentais no que respeita ao pessoal dos museus: por um lado, uma participao acrescida da populao que gradualmente dever dominar as tcnicas e o saber museolgico e por outro, a formao de novos profissionais, sensveis problemtica acima enunciada, capazes de se integrar nas comunidades, partilhar com elas as responsabilidades e a gesto de projectos museais e dotados de um saber pluridisciplinar. Coloca-se ento, claramente o problema da formao profissional do novo muselogo. No deixa de ser sintomtico que logo nas Ias Jornadas do Minom um dos temas em debate tenha sido "A profisso do muselogo no quadro de uma nova Museologia". Nas concluses desse grupo de trabalho, de que este texto largamente tributrio, assinalase no ponto 7: "Perante a impossibilidade de as instituies actuais darem resposta cabal formao dos profissionais de museus de acordo com as necessidades actualmente sentidas, justifica-se uma formao alternativa. Recomenda-se que saia destas Jornadas uma Comisso encarregada de constituir um Centro de estudos para uma Nova Museologia que tenha nos seus objectivos a formao de novos profissionais, a criao de ateliers prticos locais e a formao permanente e que se assuma como interlocutor vlido junto das Universidades e Institutos que promovem ou possam vir a promover a formao profissional." Cremos que ter sido a dado um primeiro passo para a resoluo deste problema.
V - CONCLUSO No respeito dos princpios acima enunciados que contemplam o enquadramento do novo museu e o perfil do novo muselogo, poder o Museu ser ento, o espao privilegiado para que toda a comunidade se possa expressar, onde possa rever-se no seu passado comum e em conjunto, tomar em mos o seu futuro. que, como afirmou Mrio Moutinho em comunicao s IIas Jornadas Sobre a Funo Social do Museu, "A relao entre o Museu e o seu pblico ou utilizador tem vindo a ser modificada no sentido de maior implicao deste no trabalho museolgico, orientado cada vez mais para a satisfao das suas necessidades individuais e colectivas. Esta relao, passa pelo acesso propriedade sobre o meio e consequentemente sobre o museu, flexibilidade do museu
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
19
para funcionar como um utenslio de interveno social, pela valorizao das competncias, por estruturas de gesto no hierarquizadas e participadas." ("Museologia e Economia", in Textos de Museologia, p.66, Cadernos do Minom, n1.).. O que em ltima anlise, implica com a capacidade e o trabalho de dinamizao que o muselogo for capaz de transmitir comunidade em que se desenvolva o seu trabalho.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
20
O PRIMADO DO DISCURSO SOBRE O EFEITO DECORATIVO
Lus MENEZES
Trata-se nesta abordagem de pr discusso os modos de exposio nos museus, apresentando em maquete o exemplo de vitrinas, um suporte cuja forma substantiva exprime o uso do vidro-matria prima de construo de algo que se pretende constituir como uma barreira entre o objecto exposto e o meio ambiente. De imediato, diga-se que uma exposio no se improvisa. Ela funda-se sobre imperativos cientficos, que determinam um programa e um projecto. Todavia, programa e projecto no devem corresponder s s necessidades de explorao cientfica das coleces de um museu, mas tambm pela sua pertinncia, devem saber destacar os valores inerentes comunidade em que se inserem, como situar-se no mbito das suas necessidades. Um programa, assim um acto cientfico, na medida em que constitui a armadura ideolgica da exposio, e o projecto nesta acepo, o acto de conceber as estruturas de exposio, seleco e apresentao, a propsito de dados cientficos e sua interpretao. Assim, a estrutura da exposio, atravs dos diferentes espaos estabelecidos pelo projecto, deve ser proporcional importncia do discurso museolgico pr-definido. A sua elaborao prev a escolha dos objectos e disposio, segundo os imperativos do discurso programtico. Partindo do princpio que a museologia vive entre a tenso do desejo de mostrar e de dizer, como diria Henri Georges Rivire - o colocar em valor e o colocar em situao - um projecto museolgico tem de encontrar os meios e processos de exposio, e este suporte materializado inerente,explcita ou implicitamente, a uma concepo museolgica. No sentido de colocar em situao, entende-se a concepo de itinerrios, em funo de uma estrutura racional resultante da investigao prvia do que se pretende expr, que define como preservar e musealizar. Utilizar a relao e comparao entre objectos, coloc-los no seio de conjuntos significantes, de forma a que seja acessvel e simplificada a percepo da mensagem, so items que derivam em ltima instncia, da predominncia do programa sobre o modo de emprego no espao das coleces. Colocar em situao , em sntese, estabelecer os percursos adequados transmisso de uma imagem concreta do discurso museolgico. Colocar em valor, por seu turno, projectar para uma exposio, ao nvel da sua arquitectura e composio interna, os meios de apresentao para uma melhor apreenso possvel dos objectos e documentos. dar resposta a esta funo primeira, sem perturbaes por parte dos equipamentos, e dando resposta s permissas do programa de exposio.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
21
Mediante este entendimento, no oferece discusso a necessidade tcnica de um suporte expositivo, enquanto preocupao da museologia tradicional ou da nova museologia, mas sim a forma de utilizao ou o trabalho museogrfico que lhe subjacente. Questes de proteco ou segurana, resguardo de agentes fiscos ou qumicos, a subtileza de dignificao ou valorizao de uma pea em exposio, no esto aqui em discusso, mas a forma como se apresenta este trabalho e as suas implicaes sobre o discurso museolgico, relao que no to secundria como uma primeira leitura possa sugerir. Para elucidao da questo levantada, vejamos em primeiro lugar, e de forma breve, a evoluo operada desde que surgiram os museus, salientando as implicaes entre a museografia e o discurso museolgico. A forma de apresentao dos objectos desde o nascimento dos gabinetes de curiosidades ou dos quartos maravilha no sc. XV, resultante da ecloso do esprito de coleco, e evocando a imagem de uma filosofia humanista ou o microcosmos dos conhecimentos humanos, projecta-se como exposio permanente e de tudo. Uns mais artsticos, outros mais naturalistas e etnogrficos, revelam sobre a sua aparncia de bric--brac a necessidade pr-enciclopdica de comparar e explicar, por parte dos seus realizadores particulares. Depois, s a partir de 1750, com a sequncia de diversos acontecimentos histricos de impacte universal, os museus reflectem uma alterao importante. Com o apogeu do tempo das "luzes", as implicaes polticas e culturais da Revoluo Francesa, a revoluo industrial e a sua propagao gradual na Europa e Amrica do Norte, a intensificao das empresas coloniais por parte dos poderes europeus, o movimento das nacionalidades e o acesso independncia dos pases da Amrica anglo-saxnica e latina, e a emergncia da burguesia como classe dominante, se encontra uma alterao significativa na instituio museal, reforando a sua misso de educao e proteco do patrimnio, ao mesmo tempo que se generaliza na Europa a estatizao do processo de musealizao. D-se uma impulso irreversvel no mundo internacional dos museus nesta poca, em que os povos tomam a conscincia da sua identidade, - museus de arte e arqueologia, artes e ofcios, histria natural, de pintura, artes decorativas, etnologia, etc. -, a par da inaugurao da primeira exposio internacional em 1851, em Londres, espao por execelncia simblico da nova era, com o fim de promover a indstria. J a partir do sc. XVIII, a este novo movimento se liga uma preocupao de classificao dos objectos e seleco do que se apresenta ao pblico, reproduzindo em sntese uma evoluo da prpria museografia, sem contudo se abandonar o esprito de coleco. Com a classificao, vem a necessidade de uma outra forma de apresentao, cujo testemunho o surgimento das vitrinas nos museus, por inspirao nas montras, onde se arrumam as unidades
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
22
seleccionadas segundo um princpio de uma nova racionalidade cientifco-disciplinar, ainda que se assista a uma exposio exaustiva. Todavia, j esta evoluo operada a partir do sc. XVIII, simboliza a passagem de uma museologia da observao para uma museologia do discurso. No caso dos museus de arte ou das cincias e tcnicas, nascidos aps a revoluo industrial, as exposies revertem-se na pretenso de serem o espelho do progresso, como ideologia triunfante, como para finais do mesmo sculo, e vulgarmente no sculo seguinte, com o desenvolvimento dos museus de etnologia, as exposies de armas e artefactos de tribos colonizadas, constituem o veculo ou o meio de expresso ideolgica do Poder, num contexto de disputas coloniais e a discusso sobre os direitos histricos das potncias ocidentais sobre os territrios conquistados. Neste mbito, o objecto transforma-se num emblema, quando a forma de apresentao retira o objecto da sua fora evocativa, para repr como suporte de um discurso de valores ideolgicos. No obstante, no sc. XIX se evidencie ainda o prncipio exaustivo de apresentao, marca o nascimento do museu racional, cuja etapa inaugural constitui a criao de espaos especficos para coleces, acompanhando a diferenciao das diversas disciplinas que vo enriquecer a museologia. Ainda no sc. XIX, d-se incio a outras prticas museolgicas, como o dos museus de etnologia e cincias naturais, com as restituies ou reconstrues de ambientes numa tentativa de aproximao realidade. Sucedem-se os casos dos parques zoolgicos, por iniciativa americana, das falsas vilas na Sucia - museus de pleno ar -, as exposies universais onde a vida rural e colonial encontram a sua verdadeira vitrine, como a iluso procurada pela museografia, a exposio como uma "mise en scne". J entrado o sculo XX, e ainda antes da I Guerra Mundial, a museografia tende cada vez mais a desprender-se do objecto, e a coleco propriamente dita a distanciar-se. Acompanhando o passo dado pela museografia atravs do primado do discurso, a abstrao leva at ao surgimento das maquetes e modelos mecnicos nos museus, e prpria interactividade quando a lei cientfica se entende como o objecto do trabalho museogrfico - em que j o pblico por si mesmo a tornar-se o objecto de experincias, de apresentao e exposio. Refirase o exemplo pioneiro de interactividade do museu de modelos mecnicos de Munique, inaugurado em 1905, como posteriormente a inaugurao do Planetarium de Paris em 1913, o grande instrumento de explicao do cosmos. Ao mesmo tempo que surgem neste perodo os primeiros museus pedaggicos e da cincia, constata-se a orientao ecolgica dos museus de histria natural. Como afirmava Georges Henri Rivire, este o ponto em que o discurso museolgico se interioriza, "...o que conta a experincia vivida por cada um no museu".
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
23
No perodo subsequente, entre as duas guerras, reflectindo a instituio museal o confronto ideolgico de dois mundos, aps a Revoluo de 1917, verifica-se uma cada vez maior especializao dos museus, como o reforo da tendncia ecolgica dos museus de histria natural, em simultneo nos pases fascistas exaltao da ptria de forma teatral, como no Museu do Imprio em Roma, dos anos 30, cuja apresentao de rvores geneolgicas servem para justificar o racismo. No obstante, na primeira metade do sc. XX, um novo modelo de apresentao faz apelo a trs princpios: a seleco, a informao e, pela esttica, a sobriedade. Trs aspectos relacionados com o trabalho museogrfico, que pretende facilitar a concentrao sobre o objecto ou documento, traduzido pela criao de uma ambincia neutra, que por seu turno geralmente preconizada pela cor cinzenta, vitrines pouco visveis e etiquetas discretas. Aps a II Guerra, enquanto os servios educativos e culturais dos museus ganham cada vez mais recursos e maior eficcia, e a noo de museu-laboratrio posto em prtica pelos museus de histria natural esto em franco desenvolvimento, como a expresso museolgica da geologia e da biologia, e os museus de arte contempornea passam a acolher a fotografia, e meios audio visuais, os museus de arte em geral no sofrem alteraes significativas na sua forma de apresentao. Actualmente a tendncia da museologia para a animao e para a interdisciplinariedade, cujo exemplo paradigmtico desta o ecomuseu nascido nos anos 70, mas no deixa contudo de se lhe colocar o desafio perante a evoluo dos meios de animao e difuso cultural, e uma cada vez maior massificao e comercializao cultural. Dentro desta problemtica, e ao apresentarmos estes exemplos de suportes expositivos, no pretendemos realar, seno caricaturar, um caso pontual ilustrativo da relao existente entre a museologia e a museografia, perspectivando aqui o texto como ao longo da histria dos museus se foram encontrando outras formas e meios de apresentao ou exposio. O paradoxo que se pretende evidenciar aqui, o da primazia da esttica num processo museogrfico, ou na forma de estruturao de um espao museolgico, convertendo o suporte expositivo num elemento ilustrativo de si prprio, como um fim em si mesmo. Esta justaposio, ferindo a coerncia material e formal de uma apresentao, entendese como inversa conscincia de que a qualidade de uma exposio depende em primeiro lugar de tratamento do tema, e no do detalhe dos seus acessrios. O mesmo ser dizer, de forma banal, que a considerao de um bom livro no depende da sua capa ou papel de impresso, mas do seu contedo. Os meios de apresentao numa exposio devem ser judiciosamente seleccionados em funo da sua eficcia, e no por razes decorativas, ou motivos de divertimento, uma vez que toda a forma de exposio induz sentimentos e valores que transformam o objecto em anlise. Por outras palavras, no devem expr-se entre o objecto e o pblico como elementos
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
24
decorativos, embora a museografia deva estar consciente dos modernos processos tecnolgicos disponveis para uma mais eficiente e eficaz divulgao e informao cultural, deve estar ao mesmo tempo consciente de que isso pode reverter-se numa nova obsesso pelo espectculo, em detrimento da perda dos princpios de seriedade cultural e cientfica da museologia, ou da identidade do discurso museolgico. Conclui-se, que um projecto de exposio deve determinar a organizao do espao, definindo as distncias espaciais ou museogrficas que correspondem hierarquia das ideias do discurso apresentado. Aos experts na matria, cabe por fim conceber um projecto que responda com eficcia a uma pontuao do espao, adequado organizao ideolgica da problemtica a transmitir, sem exibir os meios operativos, ou procurando o seu "anonimato" e neutralizao perante o objecto focalizado na exposio.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
25
CONSERVADOR E MUSELOGO: ABORDAGEM DE CONCEITOS
Texto 1
Jos Manuel BRANDO
A proliferao de Museus regionais e locais bem como de parques, reservas e reas protegidas a que se tem vindo a assistir um pouco por toda a parte, sintoma do despertar de um novo interesse pelas questes da preservao e salvaguarda do patrimnio natural e cultural. Este movimento, mais ntido nas duas ltimas dcadas, tambm corolrio da revalorizao do papel que os Museus tm vindo a desempenhar na sociedade, fruto sobretudo, da tomada de conscincia do valor intrnseco que as exposies tm, tanto para o desenvolvimento de capacidades e aptides dos indivduos, como para a sua prpria integrao social. O nosso pas no tem sido estranho a esta movimentao, que, pode dizer-se, despoletou subitamente com o novo clima social criado pelo 25 de Abril e tem vindo a amadurecer ao longo dos anos, ultimamente de uma forma mais pensada. Assim se justifica que encontremos j um quadro legal bem definido, em que a par de regulamentos, definio de carreiras e outras recomendaes especficas, se definem os Museus como "...instituies permanentes ao servio da sociedade e do seu desenvolvimento, sem fins lucrativos e abertos ao pblico, que fazem investigao sobre os testemunhos materiais do Homem e do seu ambiente, ao mesmo tempo que os adquirem, conservam e expoem para fins de estudo, educao e recreio" (Dec-Lei 45/80 de 20 de Maro). Para a prossecuo dos objectivos a que se propem os Museus, a legislao define um quadro de pessoal tcnico e de apoio, no qual os conservadores so assumidos como os principais intervenientes na elaborao das polticas de actuao das respectivas instituies. Velhas e Novas Prticas A tomada de conscincia da fora que as mensagens "passadas" pelos Museus tm, como contributos para o desenvolvimento integral dos cidados, permitiu reequacionar o seu posicionamento social destas organizaes, concluindo-se que na sociedade actual as funes que os Museus devem desempenhar j no so consentneas com as exposies-repositrios de curiosidades tradicionalmente produzidas e mantidas, nem mesmo os espaos que tradicionalmente lhes tm sido atribuidos, isto os edifcios (independentemente da sua funcionalidade e equipamento).
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
26
nesta perspectiva que muitos Museus tm vindo a defender, ao entenderem que a funo museolgica fundamentalmente um processo de comunicao que serve para estabelecer uma interaco da comunidade com os processos e os produtos culturais. Assim, fazendo apelo a novas museografias, recorrendo s novas tecnologias de comunicao e revalorizando o significado dos materiais exibidos tm vindo a renovar completamente as suas exposies, e o modo como estas so concebidas e montadas, criando de si prprios uma nova imagem. Quando nos propomos analisar o conjunto de Museus que conhecemos, deparamos sem grande dificuldade com a existncia lado a lado com dois grandes tipos de Museus, que perseguindo diferentes objectivos e atingindo diferentes pblicos, podemos, em certa medida, assimilar as duas diferentes facetas ou correntes da Museologia: por um lado a viso clssica da funo museal, na linha da qual so produzidas e mantidas exposies "cientficas" sobre as mais variadas matrias; por outro uma "nova Museologia", prtica emergente da verificao de que os Museus contm os elementos que possibilitam a conscincializao das comunidades em que se inserem e que os Museus devem estar ao servios da sociedade (Declarao de Santiago, 1972). Pautando-se pelas linhas tradicionais, vamos encontrar os grandes Museus tutelados pelos Governos ou ligados a grandes instituies culturais: seguindo a outra linha de trabalho, vamos encontrar alguns Museus de mbito local, muitos deles de menores dimenses, que embora no dispondo do "mediatismo" dos anteriores estabelecem fortes laos com a populao e "passam" mensagens com muito maior facilidade. Em contraste temos pois, Museus centrados no engrandecimento das suas coleces, canalizando para elas os recursos necessrios sua preservao, conservao e exibio, e os Museus de comunidade, em que a aco se desenvolve no sobre os objectos mas sobre as pessoas que os criaram e os utilizam; noutra perspectiva poderia dizer-se que o contraste se nota tambm pelas exposies surgem no para "dar ar s peas" ou para mostrar o que valem os seus conservadores, mas pela produo de exposies que resultam duma necessidade sentida e participada pela comunidade, que nelas se rev". Em ambos os casos h necessariamente uma diferena abismal entre o contedo das mensagens e da sua formalizao, havendo apenas em comum, o rigor que as duas respeitam. No primeiro caso temos uma linguagem hermtica, codificada, atigindo apenas pblicos determinados; no segundo, as mensagens so simples e abrangentes, de forma que qualquer pessoa as possa apreender e interiorizar. Este contraste ainda mais ntido no caso especfico dos recentes ecomuseus, onde em vez de um espao limitado se tem toda uma regio e em vez de uma coleco se tem toda uma comunidade com o patrimnio que a caracteriza. Conservadores ou Muselogos ?
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
27
A assuno de que os Museus, devem constituir-se em instrumentos eficazes para o fortalecimento da identidade cultural das populaes e fomentar a consciencializao destas para os problemas da preservao do meio ambiente, filosofia subjacente aos conceitos de ecomuseu e/ou museu de comunidade, fizeram emergir a necessidade de novos profissionais, cujo perfil se distancia do perfil do conservador que conhecemos. Estes novos agentes de aco museolgica, tm sobretudo por funo conciliar novas formas de gesto dos recursos sua disposio com uma profunda democratizao da sua utilizao, de modo a que possa ser revalorizada a vivncia das comunidades s quais esto intimamente ligados. Claro que esta perspectiva, marca uma situao de tenso ou mesmo rotura entre dois tipos de profissionais da museologia: os conservadores tradicionais e os "novos" muselogos. Investigador, animador, cengrafo, so apenas alguns dos atributos que primeira vista nos parecem fundamentais no perfil deste "novo" profissional, a quem se exige ainda a viso de que o Homem, a Natureza e a Cultura formam um conjunto harmnico e indivisvel (Declarao de Caracas, 1992). Entre as suas principais preocupaes dever estar portanto a problemtica do Homem enquanto que ser eminentemente social.privilegiada Ao muselogo cabe a tarefa priveligiada de promover amplas e profundas investigaes sobre a comunidade em que est inserido o Museu, procurando nela a fonte de conhecimentos para a compreenso do seu processo cultural e social e envolvendo-a nos processos e actividades musesticas desde a investigao e colheita at sua preservao e exposio. Como cengrafo, cabe-lhe a misso espinhosa de conceber e aproveitar os espaos e recursos sua disposio, para provocar o total envolvimento e identificao dos utilizadores do Museu com as exposies concebidas, sabendo que a ambincia um dos mais importantes passos para captar a ateno e assim conseguir "fazer passar" mensagens. Entenda-se esta ideia de uma forma suficientemente elstica para que nela tanto possam caber as exposies realizadas em espaos tradicionais como a exposio dos objectos e actividades na sua prpria ambincia comunitria, isto o local e o "clima social" inerente a cada um dos objectos museolgicos. Em oposio a este perfil profissional, temos o conservador "clssico", a quem tem competido alm de tarefas mais especficas ligadas sua rea de especialidade (nomeadamente a investigao, a conservao e o restauro das peas que constituem o acervo das respectivas instituies), a responsabilidade da aquisio e gesto das colece, alm do planeamento das actividades e a liderana de grupos em visitas guiadas. Em muitos casos, tm sido os conservadores a assegurar a gesto da instituio a que se encontram vinculados, desempenhando em simultneo com a sua misso principal, um papel de programador, educador, gestor etc., enfim tarefas para as quais nem sempre esto muito vocacionados ou possuem o perfil adequado, e que decorrem em detrimento das aces mais estritamente ligadas sua esfera de actividade.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
28
Compatibilidade ou Incompatibilidade ? Mesmo no quadro de aco da "Nova Museologia", ou melhor no quadro de uma "Museologia comunitria", o conservador pode ter um importante papel a desempenhar, mas numa esfera de aco mais especfica e tcnica, cabendo-lhe a delicada tarefa de conservao de peas cujo valor com frequncia elevadssimo. Como especialista, cabe-lhe ainda aprofundar a investigao no sentido de poder fornecer tanto aos Muselogos como aos utentes dos Museus, a informao necessria compreenso das peas e ao seu enquadramento temporal e espacial, dando deste modo aos materiais estudados a sua dimenso cultural, histrica e humana. O conservador est tambm, partida, bem posicionado para participar na definio da poltica de aquisies do Museu. Formao Profissional A profissionalizao dos trabalhores dos Museus uma tarefa fundamental e prioritria, para que estas instituies possam efectivamente contribuir para o desenvolvimento das comunidades. De entre os vrios intervientes, sem dvida que os Muselogos e os conservadores so os protagonistas principais, devendo-se assim uma particular ateno e termos de formao e valorizao profissional. A formao ministrada a estes agentes, deve poder capacit-los para desenvolver as tarefas interdisciplinares inerentes s exigncias dos Museus actuais, isto dot-los dos instrumentos indispensveis para exercer uma liderana social, uma gesto de recursos eficiente, uma comunicao eficiente e um fornecimento adequado de respostas s necessidades das comunidades.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
29
CONSERVADOR E MUSELOGO: ABORDAGEM DE CONCEITOS
Texto 2
Ana Maria LOUSADA
Muselogo/Conservador: realidades idnticas com nomes diferentes? profisses com funes diferenciadas mas que indiscriminadamente se confunde a terminologia? conservador actualizado ser um muselogo? Tentar clarificar estas questes, ou pelo menos contribuir para uma equao da sua problemtica o propsito da nossa exposio. A ambiguidade dos termos Muselogo/Conservador decorre no desenrolar de uma nova concepco museolgica. Na dcada de 60/70 estruturam-se os princpios de uma Nova Museologia por oposio a uma Museologia tradicional existente. repensado o papel e a funco social e poltica do Museu. Este deixa de ser olhado como um "belo armazm" esttico, centrado exclusivamente nos objectos e virado para um tempo passado - mais ou menos glorioso - mas passivo, em detrimento dum tempo presente e at futuro. O Museu agora encarado como um espao activo, com capacidade de interveno no mundo em mudana que est inserido. No perdendo, porm, as tradicionais funes de reunir, conservar e divulgar as coleces com o intuito enriquecimento de estudos e conhecimentos mas tambm de deleite e prazer. A nova Museologia ultrapassa esses princpio, equacionando um espao muselogico que dever problematizar, questionar e intervir criticamente na complexa estrutura socio-cultural. Mas como? A grande chave desta Error! Reference source not found. est na comunidade. A aco da nova museologia vira-se para o meio fsico e humano envolvente. A comunidade um agente activo que trabalha em conformidade com o Museu. Este reflecte o sentir, o evoluir e at o transformar da sua populao envolvente. Esta relao homem-meio acaba definitivamente com o monlogo museogrfico possibilitando, pelo contrrio, um dilogo crtico e profundo do patrimnio envolvido, no fundo das memrias colectivas. Neste sentido este novo Museu, denominado tambm como Error! Reference source not found. s consegue sobreviver recorrendo prtica da interdisciplinaridade, sobretudo das cincias humanas, e aqui entra a questo central desta exposio - Que tcnico de Museologia vai entrar na formao do Error!
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
30
Reference source not found.? O Conservador, dirigente dos velhos postulados da museologia tradicional? Se limitarmos o papel do Conservador ao tcnico que tem por funes inventariar, conservar e expor as coleces est obviamente desajustado do novo Museu. Tal como se deu uma transformao ao nvel dos objectivos da Museologia, tm tambm que operar-se transformaes ao nvel das mentalidades e formao dos tcnicos dos Museus. Os conservadores - personagens centrais de uma museologia tradicional - ou mantm-se unicamente como tcnicas de conservao ou urge a necessidade de uma reciclagem e adaptao aos novos rumos da Museologia. Uma Museologia de tipo novo pressupe tcnicos com outra formao e com outro tipo de requesitos. E aqui surge: o Musologo -tcnico da nova museologia que ultrapassa e subverte as tpicas funes do tcnico Conservador. Vejamos; uma vez que a Museologia de tipo novo pressupe um campo de actividade interdisciplinar constituindo um palco de aco transdisciplinar necessrio clarificar o perfil profissional do Muselogo: Muselogo-Comunicador. Somos de opinio, que um dos campos privilegiados do Muselogo a interveno sociocultural. A linguagem escolhida como o processo de comunicao com a comunidade deve aprofundar a conscincia crtica do indivduo, criar espaos de reflexo dos tempos contemporneos; aprofundar dilogos e conhecimentos quer do ponto de vista emocional quer do afectivo. Para atingir tais resultados a nova metodologia do Muselogo deve ter, portanto, como grande postulado uma investigao participativa (em que entra a comunidade e os tcnicos do Museu) que permita responder s novas necessidades sociais do novo tipo de Museologia ditadas pela comunidade envolvente. Musologo-Gestor Gestor social no sentido que tem de trabalhar como todo um sector de recursos humanos (inserido-se aqui a comunidade envolvente, mas tambm todos os trabalhadores dos Museus). Nesta funo de gestor social, o muselogo tenta igualmente aprofundar a relao Museu/ Meio, explorando um recurso importante que o potencial humano que trabalha nos Museus e que usufrui destes mesmos Museu. Alm disso apesar dos museus serem denominados instituies sem fins lucrativos, importante existir da parte do muselogo um conhecimento das necessidades econmicas da sua casa no sentido de poder minimamente rentabilizar o seu produto cultural.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
31
O Muselogo gestor consegue ainda uma abordagem muito mais sistematizada do Museu enquanto instituio, permitindo-lhe noes mais exactas das potencialidades recursos e necessidades do projecto que pretende levar a cabo. Tambm neste Sector o Muselogo gestor deve recorrer a uma gesto em que participa a prpria comunidade envolvente responsabilizando-a pelo produto cultural. Muselogo-Animador Na nossa opinio, o Muselogo deve deve ser tambm um transformador de espaos, objectos e mensagens. Quando falamos na vertente da animao no trabalho do muselogo, no nos estamos a referir produo de espectculos propagandsticos, descaracterizados, mas a programas organizados para pblicos especficos, pedidos mesmo pela comunidade ou por sectores mais restritos que so, por exemplo, as escolas. Neste sector, somos de opinio, que o muselogo e as instituies escolares tm que conjugar esforos e evoluir em sentidos paralelos estimulando pblicos mais jovens a desenvolver o esprito crtico e sobretudo demonstrar-lhe que um museu pode ser um espao de inteira liberdade: visto, pensado e trabalhado das formas mais variadas consoante "gostos e apetites". Muselogo e a pluridisciplinaridade Como j foi referido a nova museologia recorre a um vasto campo de interveno pluridisciplinar, com isto no pretendemos retratar o muselogo como "o homem dos sete instrumentos", mas sim um tcnico de museologia com determinado perfil que quando tem necessidade recorre trabalho de outros especialistas dos mais variados ramos cientficos. fruto deste trabalho de interdisciplinaridade que nascem as produes da nova corrente da museologia. Esta necessidade e preocupao pela formao dos tcnicos dos museus, foi desde sempre sentida pelos movimentos da nova museologia. No ltimo seminrio internacional - Declarao de Caracas 16 de Janeiro a 06 de Fevereiro de l992 - foi mesmo refernciado um item respeitante exclusivamente formao profissional dos trabalhadores dos museus " ... a sua formao deve possibilitar-lhe o desempenho de uma tarefa de interdisciplinaridade prpria do museu actual dando-lhe ao mesmo tempo elementos indispensveis para exercer uma liderana social, uma gerncia efectiva e uma comunicao acertada"(1). Neste mesmo documento pontualizam-se projectos de aces para o enriquecimento da formao do muselogo. Posto isto e em jeito de concluso, gostaramos de destacar algumas ideias:
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
32
Muselogo/Conservador - uma questo que ultrapassa o plano acadmico e se prende com questes reais, de caracter prtico associados a problemas bem concretos. Vejamos: - O Conservador - tcnico da inventariao, catalogao, conservao e exposio personagem central das correntes tradicionais da museologia foi ultrapassado pelo Muselogo tcnico da comunicao em estrita ligao com a comunidade, tcnico animador, tcnico gestor enfim agente quase pluridisciplinar das novas correntes da museologia social. - A ruptura verificada entre conservador e muselogo acentua-se cada vez mais quando entramos nos princpios metodolgicos de cada um. O conservador recorrendo a mtodos de investigao centrados exclusivamente no objecto a expr; o muselogo introduzindo a gesto participada da comunidade com as suas memrias colectivas passadas e vividas presentemente. Por consequncia, o raio de aco que o conservador e que uma museologia tradicional pretende atingir limitam-se ao pblico que visitar a sua exposio. Por oposio, o muselogo e a nova museologia derrubam os muros do museu indo ao encontro da comunidade, ela prpria produtora e produto deste museu. NOTA 1. In Declarao de Caracas, Caracas 16 de Janeiro a 06 de Fevereiro de 1992, p. 13. BIBLIOGRAFIA MOUTINHO, Mrio, Museus e Sociedade, Monte Redondo, 1989 RIVIRE, Georges Henri, La Musologie, Bordas, Paris, 1989 Textos de Museologia, Jornadas sobre a funo Social do Museu, cadernos do MINOM, n 1, Lisboa 1991 "Resolution adopted by the round table of Santiago (Chile)" In Museum, n 3, Unesco, Paris, 1973 Declaration de Quebec Declaration de Oaxtepec Declarao de Caracas
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
33
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
34
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
35
MUSEOLOGIA E COMUNICAO
Texto 1
Francisco CLODE SOUSA
O esgotamento de um modelo tradicional, que condicionou os campos da museologia, tende hoje, inexoralmente a afirmar-se. A Museologia e o Museu tradicional, se que se pode falar de "tradio", construram sobre a sociedade uma organizao conceptual, plena de informao, num frenezim constante para tipificar e arrumar correntes, civilizaes, programar o futuro, pela construo de modelos. Este fenmeno acumulativo, tem levado at certo ponto, a uma preservao dos conceitos, pela disponibilizao de meios tcnicos, que fazem harmonizar acessos a uma informao, que anula diferenas, e mais do que isso, banaliza os problemas da sociedade beira do sculo XXI. Equacionada sobre esta nsia acumulativa, pode hoje falar-se numa sobreacumulao de informaes, em cemitrios de tecnologia informativa, espera de utilizaes impossveis, num afastamento progressivo do homem, contextualizado pela sociedade, na percepo dos seus problemas, resultado das dificuldades crescentes em comunicar, pela rigidez insuportvel dos cdigos, e messianismo dos critrios. Todos sabemos como vai o Mundo "atravs da mdia", isto , ningum conhece realmente o que se passa, o que no sai na televiso, ou nos circuitos especializados da informao, no existe para ns... . Das realidades fizemos prteses. As dificuldades crescentes do "terceiro mundo", em gerir informao que lhe era estranha, fez aparecer mais cedo do que no "primeiro mundo", o problema da aferio dos cdigos de informao sociedade, e as dificuldades crescentes em construir modelos para comunicar. O equacionamento de novos referentes sociais tm ao longo da segunda metade do sculo, sido vrias vezes posta, com crescente actualidade, na busca por exemplo, da construo de novos veculos de comunicao. Neste processo, lembremos aqui alguns momentos, em que estes novos problemas se puseram. A Mesa Redonda de Santiago do Chile em 1972, organizada pelo ICOM (Concelho Mundial dos Museus) a pedido da Unesco, dava a continuidade a outras reunies, como as de Nova-Deli e de Bagdad, reunidas nos anos 60. Para a fixao dos problemas da museologia, pediu-se aos muselogos que se encontrassem com no-muselogos, clarificando conceitos, na busca de princpios que levassem o Museu para alm do seu quadro tradicional. Desse encontro sau uma Declarao, que revela necessidades e problemas, dificilmente detectveis se os Museus tivessem mantido uma atitude sobranceira em relao sociedade.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
36
Situados partida no "terceiro mundo", os problemas da Museologia, so muito mais gerais do que se pensava, e o que primeiro se sentiu nestas partes da terra, est tambm presente do outro lado, sendo a raiz das dificuldades, comum: desajuste entre as necessidades e os cdigos de comunicao do Museu e os da sociedade. Nos considerandos afirma-se: (...) "A tcnica permitiu civilizao material a concretizao de gigantescos progressos, sem equivalentes no domnio cultural (...). Que: (...) "Os problemas que se pem ao progresso das sociedades no mundo contemporneo devem ser equacionados de forma global e serem vistos nos seus mltiplos aspectos." Que "a escolha das solues a adoptar e a sua aplicao no devem ser apangio de um grupo social, mas exigindo que todos os sectores da sociedade participem desse processo". Mais se afirma que: "o Museu uma instituio ao servio da sociedade, sendo dela parte integrante, permitindo-lhe participar na formao da conscincia das comunidades" (...) "situando a sua aco num quadro histrico permitindo esclarecer os problemas actuais". Na construo de novos pressupostos e na abertura a novas estruturas para rentabilizar a sua aco: (...) "abertura do museu as disciplinas fora do seu domnio tradicional". (...) Sugere-se partida a construo de um novo sentido para a comunicao, na criao de novos instrumentos: (...) "que as tcnicas museogrficas tradicionais devem ser modernizadas a fim de permitir uma melhor comunicao" (...) Mais se afirma a necessidade dos Museus: (...) "estimularem o desenvolvimento tecnolgico, tendo em conta a situao actual da comunidade (...)", assim como o "(...) emprego dos Museus na difuso dos progressos realizados nesses domnios.(...)" No entendimento de um novo sentido para comunicao e o posicionamento do Museu nesse processo, reconhece-se ainda a importncia do Museu" (...) como agente incomparvel de educao permanente da comunidade(...)". Para poder desenvolver esse papel procura listar-se alguns meios a incentivar: "A criao de servios educativos (...) permitindo-lhe agir dentro e fora do Museu, a existncia de uma poltica nacional de ensino, incentivo utilizao de meios audio visuais, o primado da descentralizao, a existncia de programas da informao, etc. Como recomendaes finais a Mesa Redonda de Santiago do Chile adianta a necessidade de reequacionar, definir e lanar uma nova concepo de aco dos Museus, na criao do Museu integral. A Declarao de Santiago, ponto de fixao de propostas em amadurecimento, reconhece antes de mais a necessidade de reajustar o papel do Museu face sociedade contempornea. A passividade que havia caracterizado a Museologia tradicional, fez arrastar o Museu, na difuso de imagens tipo que o caracterizaram, para longe da vida. Definindo campos especficos de actuao, congelando a Histria, estruturando lugares de aco interna e externa, organizou-se para esclarecer, no para problematizar, afastando a sociedade da "construo" de si.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
37
Instituies partida ligadas a arqutipos como edifcios de arquitectura quase sempre clssica - naquilo que em cada regio quis dizer classicismo, criou pblicos que s tinham direito a assistir ao espectculo. O desassossego s se instala, quando cada vez mais se assiste inutilizao destes pressupostos, pelo esvasiamento destas organizaes, sobreviventes, apenas quando se intensificam campanhas de "marketing". Preso a lgicas de natureza elitista, e nela s cincias do patrimnio, no soube converterse pela percepo de outros campos do conhecimento, na reequao dos seus processos de comunicao. A busca de um novo sentido do Museu passa, e se recordarmos Hughes de Varine, como nos afirmou no I Encontro da Nova Museologia no Quebec em 1984, pela necessidade: "(...) de fazer apelo a especialistas de outras disciplinas, particularmente daquelas que tratam do presente e do futuro das sociedades (...), na medida em que o, (...) "pblico em primeiro lugar a prpria populao; os melhores modelos so aqueles que so elaborados pelos prprios interessados e os especialistas exteriores so, no melhor dos casos, inteis e, no pior, perigosos". Hughes de Varine, levanta no seu documento "La participation de la population", nas III jornadas sobre a funo social do Museu, no Monte Redondo, Vilarinho das Furnas, em Portugal, 1990, a preocupao de George Henri Rivire, sobre a "fadiga dos Museus", na certeza de que a criao de novos conceitos sobre a gesto e espaos e condicionantes museogrficas so o cerne do problema. Varine lana a possibilidade, do problema ser bem mais profundo. Reconhece o esgotamento progressivo de um modelo que, revertia a prpria presena dos objectos museolgicos perante outros apelos informativos. A mudana de conceitos, como a passagem do Museu, lugar de despejo de pblicos, para projecto que diz respeito a uma populao, a uma comunidade, tende a rever os modelos tericos sobre as referncias dos Museus, e a presena da populao, de uma comunidade num "Museu-enquanto-processo", introduz a possibilidade do agenciamento de novos circuitos, de um novo entendimento dos cdigos de comunicao. A construo dinmica do museu novo, deve assim assumir-se como processo que diz respeito a uma comunidade, que definir a melhor forma de se afirmar. Afirmao aqui entendida como forma a construir, no propriamente na reviso do conceito de Museu na sociedade contempornea, e da inveno ou converso de novas formas de comunicao na construo do presente e do futuro. Se a sociedade contempornea trouxe o primado da informao, ela deve ser entendida, antes de mais, pela forma e sentido como veculada, na certeza que o poder de deciso se remete para a comunidade que a incorpora. Para alm da "Declarao de Santiago do Chile", um outro documento, sado do Seminrio "La Mision del Museo en Latino America hoy: nuevos retos", realizado pelo ICOM, em Janeiro
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
38
de 1992, em Caracas, Venezuela, pe nossa disposio alguns dos princpios e desafios fundamentais do Museu contemporneo. Baseada na observncia da maioria dos problemas levantados vinte anos antes em Santiago do Chile, como o reconhecimento do xito de algumas experincias que visem: (...) "transformar o Museu num organismo vital para a comunidade e um instrumento eficaz de desenvolvimento integral". A acelerao do processo histrico, o fim de barreiras polticas e ideolgicas julgadas intransponveis, o acentuar das clivagens entre os vrios mundos econmicos, o desenvolvimento impensvel da cincia e da tecnologia, trouxe consigo o estigma da "sociedade da comunicao" pelo aproximar das distncias que fez acelerar a standartizao cultural, pela difuso de paradigmas, perante os meios tecnolgicos, que elegeram a realidade virtual, como processo de informao intercontinental. No faz assim sentido, o Museu manter uma atitude passiva, perante a acelerao da histria, e talvez por isso, um dos pressupostos, ou reptos, do papel do Museu na sociedade contempornea levantada em Caracas seja precisamente "Museu e Comunicao". Os declarantes de Caracas afirmam que: "(...) a funo museolgica fundamentalmente, um processo de comunicao, na acepo de que o seu papel ultrapassa largamente o seu estatuto tradicional, enquanto fonte de informao ou instrumento de educao, mas sobretudo a sua definio enquanto espaos e meios de comunicao, num processo interactivo da prpria comunidade, que o elege como instrumento e no como fim. Assim deve antes demais constatar-se que o museu como instrumento de comunicao, equaciona problemas, com referncias a objectos ou ideias e que essas mensagens, so partida prximas a uma linguagem no verbal. que o primado da linguagem verbal, cerceia outros campos de interveno. Se a comunicao pressupe a interaco de dois plos, a liberdade de construo dos cdigos ou linguagens, que definem essa comunicao, devem ser partida um processo livremente escolhido pelo homem enquanto ser social. Espao de comunicao, o Museu no deve intentar na elaborao de cdigos de comunicao que se encontrem desenquadrados com a realidade social em que esto integrados, na certeza de que um processo de comunicao no unidireccional, mas interactivo, dificultando aces de manipulao ou controlo. Na declarao de Caracas, toma-se conscincia de uma das dificuldades de empreender a comunicao como processo interactivo, pelo desajustamento entre as linguagens e os cdigos do Museu e os da populao, no tendo na maioria dos casos conscincia do seu enorme potencial de comunicao se reelaborados, na sua aproximao ao que mais interessa s populaes. Se se aceitar a importncia do museu, enquanto integrada num processo educativo do indivduo, deve compreender-se a variedade dos campos que constituem as aces educativas,
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
39
na constatao da urgncia em abarcar os campos da educao no formal, participativa, interactiva, que ponha em evidncia a criatividade. Como recomendaes saram do encontro de Caracas, a percepo mais aprofundada do papel do Museu como meio privilegiado de comunicao, sobretudo como assumir-se num espao de relao dos indivduos e das comunidades com a sua prpria identidade, na construo interactiva de processos de comunicao, suficientemente versteis, que sejam eles mesmos reflexo da enorme diversidade do homem. Que se assuma o Museu como portador de potencialidades comunicacionais e como portador de linguagens e mtodos que lhe sejam prprios. O apelo interdisciplinariedade, e a passagem dos museus do gheto da Cultura, para o conjunto da actividade humana, pode fazer entrar para a museologia novas capacidades at ento desprezadas. Se a acelerao do mundo contemporneo uma constante cada vez mais visvel, o Museu como processo interactivo, deve focar as suas prioridades no presente e no futuro, na certeza de que com a construo de novas linguagens e cdigos, deve situar-se como instrumento privilegiado de comunicao, posto disposio da sociedade, enquanto construo criativa. Assim o agenciamento dos instrumentos postos disposio dos homens, integrados numa determinada comunidade, se colocados de forma correcta, servem de veculo de accionamento de comunicao, entendida como processo, e no como resultado a fixar. Contrariando a polarizao e dirigismo, assumidos pelos meios de comunicao contemporneos, pela fora de avanos tecnolgicos e cdigos simplistas de referncias, o Museu deve situar-se como ponto de encontro, como processo crtico de auto-identificao de homens, na construo de uma comunidade, em que se integram. O problema da standartizao dos padres culturais, posto em afirmao pela construo dos preconceitos e formas de conduta, sente-se pela criao cada vez mais acentuada, de referentes tecnolgicos que nos levam a uma realidade virtual, desenraizadora. As tecnologias e os instrumentos cientficos postas disposio do Museu, devem ser equacionados de forma a permitirem a valorizao das experincias e no como tirania, na circulao de informao, onde o homem no tem voz activa como criador, mas apenas enquanto elemento onde tambm circulam mensagens, que ele no controla. beira do sculo XXI, o papel do Museu, deve equacionar-se, perante a observncia de tantos exemplos de total desajuste entre a comunidade em que se encontra e os seus objectivos, no tanto na descoberta de mais um meio de angariar pblicos, mas na reflexo da sua posio enquanto instrumento posto disposio de uma comunidade que delimitou o seu prprio territrio. A criao de novos meios de comunicao passa ento pela recuperao de poderosos processos que se estendem para alm da palavra, na converso dos circuitos de informao, e na
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
40
constatao que a circulao de informao, ela mesma, um processo em construo, que resultar na inveno constante das formas de comunicao contempornea. Se os circuitos tradicionais de interaco do Museu com a sociedade, construam-se por uma ordem de causa e efeitos, a criao de novos pressupostos de construo do Museu, como processo de homens de uma determinada comunidade num determinado territrio, passa obrigatoriamente pela converso dos impulsos. que de causa e efeitos, se assumiro como permanentes causas e efeitos, onde se agencia a prpria comunidade. O Museu enquanto memria, vive de ausncias, de desenquadramentos entre a populao e as suas urgncias, no tempo e no espao. O Museu como processo de construo do presente e do futuro, enquadra o homem como ser inteligente e criador capaz de reconhecer-se no seu prprio dinamismo. Ao longo do sculo XX as concepes de espao, as noes de territrio e de poder, a organizao da memria, o sistema da "verdade", a casustica do bem e do mal, adquiriram por construo tal robustez, que s agora no fim do sculo nos atrevemos a tentar desconstruir, na certeza de que agora seremos corresponsveis tambm de todas as derrotas. Hoje deve assumir-se que a construo do Museu enquanto processo de comunicao, deixou de entender a reconstituio da memria e o primado da memria cultural, como estratgia inevitvel, por via de linguagens de sentido nico. Se o Museu tradicional, sempre temeu, desprezando as tecnologias, e se constituiu como reserva onde est assegurada a sua ausncia, mais no tem feito do que construir robots, em que o "hardware" destri, esmagando o "software". A descoberta de novos meios e formas de comunicao, do Museu na sociedade trar obrigatoriamente a dimenso do homem como autor, e o do Museu como instrumento de trabalho. O assunto - disse Roland Barthes - no seno um efeito de linguagem. A sua operacionalidade, ou utilidade s se pe se se der aos homens a capacidade de gerir a sua oportunidade. A entrada em cena, da intromisso das populaes na definio dos modelos de comunicao, trar consigo, o dinamismo, o empenhamento, e aceitao do papel dos museus como espaos de comunicao, se a entendermos como forma em construo e poderosos instrumento para a criatividade.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
41
MUSEOLOGIA E COMUNICAO
Texto 2 Teresa AZEREDO PAIS
Sem ter a pretenso ou o objectivo de criar um texto original ou cientificamente elaborado sobre o tema "Museus e Comunicaes", este trabalho constitui um instrumento de reflexo sobre questes levantadas, no mbito da disciplina "A Funo Social do Museu", do curso de ps-graduao em Museologia Social. A escolha do tema deveu-se ao facto de considerar ser esta a questo principal e o maior desafio que se coloca aos museus na actualidade. Reflectir sobre ela, em ltima anlise, questionar, reavaliar todos os domnios, prticas e conceitos da actividade museolgica. Metodologicamente, este trabalho tem como ponto de partida a referncia e anlise dos dois documentos "Resolues adoptadas pela Mesa Redonda de Santiago do Chile" e a "Declarao de Caracas", considerados dois marcos fundamentais na mudana que se pretende para os museus, e na gnese de novas correntes e instituies museolgicas. Ambas tiveram como objectivo comum reflectir sobre a misso actual do Museu como um dos principais agentes do desenvolvimento de uma regio ou comunidade. Estes documentos revelam algumas interrogaes e preocupaes face ao evoluir da sociedade contempornea, cada vez mais caracterizada por antagonismos e preconceitos de ordem poltica, econmica, racial, cultural e religiosa. A fome, a guerra, a destruio de vidas, cidades inteiras e consequentemente de todo um patrimnio, so algumas das imagens com que diariamente somos confrontados atravs dos meios de comunicao social. O profundo desequilbrio e desajustamento econmico e tecnolgico que separa as sociedades desenvolvidas dos pases em vias de desenvolvimento, de que nos fala a declarao de Santiago, em 1972, torna-se hoje cada vez mais evidente. Por tudo isto, torna-se necessrio perguntar: Como se posicionam os museus face a todos estes problemas? Para que servem os Museus? Querem os museus e os profissionais da museologia, ser responsveis pela transmisso de ideias exactas, correctas, mas perfeitamente desenquadradas da realidade? Eis algumas questes para as quais urge dar resposta. Para uma melhor estruturao do trabalho, a abordagem do tema desenvolveu-se em trs pontos: 1 - Da Mesa Redonda de Santiago Declarao de Caracac 2 - Educao - Comunicao - Desenvolvimento
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
3 - Novas Referncias Museolgicas 1 - DA MESA REDONDA DE SANTIAGO DECLARAO DE CARACAS
42
Organizada sob os auspcios da Unesco, em 1972, realizou-se em Santiago do Chile uma "Mesa Redonda" consagrada ao papel dos museus na Amrica Latina, que marcou ao nvel regional uma viragem radical no domnio da museologia. Esta reunio caracterizou-se pelo encontro de pessoas ligadas aos museus com especialistas de vrias reas das cincias naturais, sociais e aplicadas. A aproximao e o estabelecimento de prticas interdisciplinares, nico processo que convm realidade contempornea, conferiram a este encontro um carcter de seriedade e cientificidade. Esta metodologia permitiu o desenvolvimento da ideia de que os museus tm uma misso social particularmente importante a desempenhar, e a formulao de uma definio de museu na sua globalidade, - o Museu Integral. Considera-se que a "Mesa Redonda" de Santiago foi pioneira e reveladora de novas ideias, preocupaes e sobretudo de novos posicionamentos do museu face comunidade. Analisados e identificados os profundos desajustamentos e a inadequao dos museus face realidade scio-econmica e cultural da sociedade latino-americana, os participantes desta "Mesa", partiram para novos postulados museolgicos, trilharam novos caminhos, marcando a diferena que aparece na concepo de Museu enquanto Instituio Cultural ao servio de uma sociedade: "Que le muse est une institution au service de la socit dont il est partie intgrante et qu'il possde en lui-mme les lments que lui permettent de participer la formation de la conscience des communauts qu'il sert; qu'il peut contribuer entrainer les communauts dans l'action en situant leur activit dans un cadre historique qui permette d'eclairer les problmes actuels, c'est--dire en ratachant le pass au prsent, en s'engageant par rapport aux changements de structure, en cours et en provoquant d'autres changements l'intrieur de leur ralit nationale respective."1 Esta definio de Museu, que aplicvel em qualquer contexto, exigiu, ao nvel regional, uma reavaliao e transformao do papel da instituio museal, bem como um agenciamento e equacionamento dos problemas e conceitos no mbito da actividade museolgica. De instituies estticas e distantes, principalmente dirigidas para a conservao e inventrio cientfico de patrimnio artstico, natural ou edificado, alguns museus, j sob influncia dos novos ventos soprados de Santiago do Chile, tm progressivamente realado o
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
43
desafio que consiste em colocar esse patrimnio ou patrimnios ao servio do desenvolvimento cultural contemporneo. Apesar desta abertura e conscincializao por parte dos museus e seus profissionais, a grande maioria vive ainda hoje, em funo do passado, fazendo dele a sua razo de ser. Conservam, classificam e expem as obras, que apenas reflectem reas culturais muito restritas, sem grandes preocupaes de as apresentarem no seu contexto histrico. No decurso deste Encontro, depois de aceite que o museu se deve integrar e ser um agente privilegiado no desenvolvimento geral da sociedade, foi decidido inverter o sentido do "seu vector temporal", cujo ponto de partida se situa num momento qualquer do passado, mas cuja finalidade e objectivo compreender o momento presente e perspectivar o futuro. Pede-se assim, que os museus se "desamarrem" do passado e, como agentes potenciais de comunicao, desenvolvimento e prazer, se transformem em mensageiros de esperana, paz e criatividade. curioso notar que decorridos 20 anos sobre a realizao da "Mesa Redonda" de Santiago do Chile muitas das suas resolues, reafirmadas e desenvolvidas na Declarao de Caracas, realizada em 1992, mantm-se fundamentalmente actuais e por aplicar na maioria dos museus. Geradores de novas ideias, de novas correntes e sobretudo de novas situaes museolgicas (Ecomuseologia; Nova Museologia) que se manifestam em vrios pontos do globo, comprovam o impacto destes dois encontros que extravazou as fronteiras do prprio continente latinoamericano. visvel a preocupao cada vez maior de colocar o Homem no centro da aco museolgica e situ-lo num contexto global da sociedade. Impe-se aos museus e a outras instituies afins, um importante papel de mediar e divulgar a importncia das implicaes do conceito de Identidade Cultural, sobretudo ao nvel de alguns pases europeus, onde a diversidade tnica e religiosa fundada sobre patrimnios e "memrias" de diversas origens e diferentes contextos, originam frequentemente momentos graves de conflito. importante constatar que os museus podem e devem ajudar na formao e no reforo da personalidade duma nao, destacando aspectos do seu passado com vista criao de uma unidade nacional. Ao analisar a "Declarao de Caracas" e mais especificamente o captulo referente a Museus e Comunicao constata-se que, para alm das muitas consideraes importantes, j manifestadas na "Mesa Redonda de Santiago," outras sobressaem pelo seu carcter inovador e pelo desafio que constituem museologia actual; "...que los museos no son slo fuente de informacin o instrumentos de educacin, sino espacios y medios de comunicacion que sirvam para estabelecer una interaccin de la comunidad con el proceso y los productos culturales."2
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
44
"Que el proceso de comunicacin no es unidireccional, sino un proceso interactivo, un dilogo permanente entre emisores y receptores, que contribuye el desarrolo y enriquecimiento mutuo, y evita la posibilidade de manipulatin o imposicin de valores y sistemas de cualquier tipo."3 Isto significa que os museus, como instituies de interesse pblico e patrimonial, devem estar abertos e disponibilizar os seus prprios espaos para a realizao de outras experincias comunitrias, outros saberes, que no os que derivam das suas coleces e da sua prpria natureza. Que esta interaco s autntica se estabelecida, no quadro de uma ampla participao e responsabilidade dos "promotores" envolvidos no processo. Que ela sugere novas perspectivas, novos equilbrios, na forma de comunicar, atravs do dilogo e do intercmbio conseguido entre a Instituio museal e a comunidade. Estas questes, constituem, de facto, um desafio e apontam para uma total reconverso de valores tradicionalmente pr-concebidos na actividade museolgica. No ser muito arriscado concluir que o maior contributo da Mesa Redonda de Santiago e posteriormente da Declarao de Caracas, foi o alerta, a sensibilizao dirigida aos museus e seus responsveis, para a necessidade urgente de ajudar as populaes a adquirir uma conscincia social e poltica que se projecte no futuro de uma forma positiva. 2 - EDUCAO COMUNICAO - DESENVOLVIMENTO "Un jour, deux hommes faisaient un voyage en ballon lorsque une brusque tempte les fit dvier de leur route. Lorsqu'elle se calma, ils ralisrent qu'ils taient compltement perdus. Par chance, ils aperurent un homme qui cheminait au-dessus d'eux. "Hol! crirent-ils, o sommesnous?" - "Vous tes dans un ballon" rpondit, du sol, la petite silhouette. Les deux hommes se regardrent, et l'un dit : "Il doit s'agir d'un conservateur de muse" - "Qu'est-ce qui te fait dire cela ?" demanda l'autre. "C'est que l'information qu'il nous a donn est parfaitement exacte, mais totalement inutile!" (4) Esta "histria" reflecte bem a imagem e a realidade da maioria dos nossos museus. No quadro diversificado de instituies culturais, cujas fronteiras se tornam cada vez mais indefinidas, os museus afirmam-se como lugares privilegiados para a preservao e representao da nossa "memria colectiva". Esta afirmao no deixa de ser verdadeira. Mas, se prestarmos bem ateno, O que vemos representado nos nossos museus ? Os museus transmitem uma imagem real, verdadeira, da diversidade cultural da nossa sociedade ? Que critrios so usados ?
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
45
Obedecendo a uma longa tradio museogrfica e a uma lgica herdada do passado, os museus, durante muito tempo, limitaram-se a preservar e "mostrar" objectos, vivncias decorridas e realizadas em momentos passados da nossa histria, no totalmente representativos de um povo na sua globalidade. S os objectos de grande valor artstico ou histrico e socialmente reconhecidos, que se tornaram dignos de ascender categoria de "obras de arte" e expostas num museu. A integridade do objecto constitua a sua principal preocupao. Contudo, podemos afirmar que, presentemente, motivados por novas concepes e prticas museolgicas, muitos museus apresentam j diferenas substanciais, na perspectivao de novas preocupaes sociais. verdade que, no decorrer dos ltimos anos, a pesquisa e a conservao se estenderam a uma multiplicidade de aspectos respeitantes aos diversos perodos da Histria, s vrias categorias sociais, s diferentes actividades humanas. Assiste-se progressivamente a uma maior especializao por parte dos museus. Por outro lado, a proteco do patrimnio cultural ultrapassa, hoje em dia, a prpria competncia dos museus. O alargamento da noo de "patrimnio museal" e a complexidade de funes e responsabilidades sociais atribudas aos museus, coloca grandes interrogaes a todos os profissionais ligados museologia. Todas estas preocupaes reportam-nos, de maneira evidente para a 16 Conferncia Geral do ICOM, realizada no Canad, no decorrer do ano de 1992 e dedicada ao tema: "Os Museus: Quais os seus limites? Onde comea e acaba a funo e responsabilidade do Museu? O que se pede aos museus que saibam comunicar as diferentes experincias do passado em funo de uma maior clarificao de situaes presentes, e que se assumam como veculos de desenvolvimento das populaes. este dilogo permanente entre passado, presente e futuro, ou seja, na compreenso global do processo histrico, que dever constituir o fundamento da organizao e a natureza do "Novo Museu". Os museus favorecem o passado em detrimento de realidades presentes e futuras, no apresentam uma imagem correcta da Histria, e negam o seu prprio dinamismo. "La communication, avant mme d'education, est maintenant considere comme l'objectif primordial des muses. Est-ce aussi notre avis nous, musologues"(5) A forma insistente com que se fala da misso ou servios educativos, e num sentido mais amplo, do museu enquanto agente de comunicao, explica-se pela importncia vital que estes aspectos vm assumindo na vida dos museus, tidos para uns, como factores da sua prpria sobrevivncia, e para outros, como meios de expanso e prosperidade.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
46
Acontece que os "servios educativos", desajustados da prpria realidade, raramente so sinnimos de comunicao, enquanto agentes potenciadores de dilogo. "Le rle ducatif du muse doit tre repens si l'on veut qu'il atteigne sa vraie dimension. Mais (et ceci constitue l'un des point les plus forts de mon approche du problme) cette transformation ne peut tre realise para le service ducatif. Si elle n'est pas partie intgrante de la nouvelle approche de l'institution musale dans sa totalit, rien de vraiment nouveau ne pourra advenir."(16) Da necessidade da justificao da sua prpria existncia enquanto instituies culturais, no meio envolvente, e com responsabilidades perante a comunidade onde esto inseridos, os museus reorganizam-se e reestruturam-se na tentativa de captar novos pblicos, suscitar novas emoes, assegurando assim, a sua continuidade. No sentido de uma maior divulgao e democratizao do acesso aos seus espaos, muitos so j os museus que empreendem e multiplicam as suas actividades culturais e ldicas, que modificam ou constroem novas estruturas de apoio e maior conforto para os utilizadores, na tentativa de cumprirem e corresponderem s expectativas para que foram criados. Contudo, a eficcia de uma poltica de comunicao e divulgao s resulta se corresponder realmente a uma mudana de mentalidade da prpria instituio, se for fruto de um trabalho contnuo, realizado quotidianamente e conjuntamente com a populao. A gesto de uma instituio cultural, apostada na qualidade e desenvolvimento dever estar permanentemente atenta e reflectir sobre as mudanas efectuadas no seu meio envolvente, e sobre os interesses do pblico a que destina. Existem j algumas experincias realizadas por museus, que fazem apelo "educao sensorial", recusando assim, um servio educativo, tradicionalmente estruturado e realizado como prolongamento do ensino formal, de cariz racionalista como o praticado nas nossas escolas. Para combater o "estigma" dos museus tradicionais, necessrio encetar novas formas de comunicar com o pblico, aceitando, em primeiro lugar, o seu desencantamento em relao s instituies museolgicas, que durante muito tempo, se mantiveram ausentes e isolados das comunidades e dos seus problemas. A imagem que o museu transmitia era a de um lugar sacralizado, onde se expunham objectos raros, preciosos, usando uma linguagem demasiadamente erudita e pouco acessvel maioria da populao. No se pretende com isto dizer, que esses, objectos, deixem de ser importantes, enquanto representantes das correntes e produes artsticas nacionais ou internacionais, e at mesmo como veculos geradores de "encontros" puramente pessoais e estticos, cujo fim o prazer da contemplao da prpria "obra de arte".
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
47
O que importante salientar, que, no entendimento da nova museologia, os fins, os objectivos, deixaram de se centrar nos objectos, para se colocarem ao servio do Homem, enquanto membro activo de uma sociedade. Os programas e as actividades do museu devem reflectir mais as preocupaes e os interesses do pblico e do "no pblico", do que privilegiarem os prprios objectos. O museu para comunicar, para conquistar novos utilizadores, tem de se tornar cmplice na pesquisa, na identificao dos seus dilemas, frustraes, qualidades, ajudando a situ-las no decurso da sua prpria experincia histrica, clarificando, ou se possvel, respondendo questo que todos ns procuramos: Quem somos ns? claro que temos que ser realistas e apercebermo-nos quanto difcil para muitos museus, falar ou idealizar novas imagens, diversas formas de comunicar, enfim, de serem diferentes, sem ter em conta que o seu contexto exterior, ou seja, as fortes dependncias administrativas, polticas e financeiras que tutelam a maioria destas instituies, continuam inalterveis. Esta situao agrava-se quando as prprias polticas culturais seguidas e estipuladas pelos governos, negam na prtica e desvirtuam o prprio conceito de cultura, que no deve centrar-se exclusivamente sobre as artes ou a criao artstica, mas sim ser o reflexo de tudo aquilo que ns fazemos e pensamos. Aos museus "permitido" transparecer e associar-se, de certa maneira, com ideias de democraticidade, inovao e desenvolvimento, mas desde que elas no ultrapassem a prpria lgica e natureza do poder institudo. 3 - NOVAS REFERNCIAS MUSEOLGICAS Os pressupostos tericos em que assenta a nova museologia, centram-se no interesse das comunidades e na identificao dos seus problemas. Utilizam a museografia como instrumento privilegiado de comunicao e interveno social. Ao colocar luz do dia, problemas e questes pertinentes e sucessivamente adiadas, a nova museologia, provocou ao nvel da instituio museal tradicional graves interrogaes e inquietaes. Considerada por alguns como um "heresia", a verdade que esta se vem afirmando em alguns sectores do pblico, como um movimento capaz de corresponder mudana necessria, a uma imagem renovada do museu, avaliada por novos condicionalismos sociais, culturais e econmicos. Ela prope-se transformar radicalmente as finalidades do museu e da cincia museolgica, e consequentemente, apela a uma profunda mudana de mentalidade e de atitude do "muselogo" ou do conservador. So evidentes as diferenas que separam os dois conceitos de museu e do seu papel na sociedade contempornea.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
48
O museu tradicional, assente numa lgica de preservao e valorizao dos objectos artsticos e circunscrito ao espao fsico de um edifcio, v com alguma dificuldade a aplicao destes novos princpios prtica museolgica. O programa museolgico do novo museu preferencialmente voltado para as ideias e os problemas que quer transmitir, (Museus de Ideias, Museu de Problemas), adopta o conceito de "museu descentralizado", promove o alargamento da noo de objecto museal, defende a conservao "in situ" e a racionalizao da gesto do museu. O reconhecimento, por parte da nova museologia, de que o desenvolvimento dos museus se processa "fora dos grandes oramentos estatais ou de ricas fundaes privadas, e fora tambm de uma equipa tcnica omnipotente, privilegiando o factor humano, relegando objecto para a condio de utenslio da aco museal e j no como fim dessa mesma aco"(7), "subverteu" por completo a ideia tradicional da museologia e do museu. A nova museologia reconhece ainda, que no h modelos exclusivos a seguir, mas que junto das populaes ou da comunidade que se deve procurar as solues mais convenientes e ajustadas realidade, tendo em vista um desenvolvimento harmonioso e global. No IV Encontro Internacional da Nova Museologia, organizada pelo MINOM, realizada em Espanha, em 1987, Alpha Konar, na qualidade de convidado, constacta a necessidade da mudana e considera que: "le muse doit permettre l'homme de travailler pour son propre dveloppement social; le personnel du muse, en tant qu'animateur social, doit pouvoir bnficier d'une structure administrative permettant une permutation des cadres afin de pouvoir rester l'ecoute des populations."(8) No entender de Hugues de Varine ( antigo director do ICOM) tambm presente neste Encontro, "l'exposition, seul vritable mode d'expression du muse, est un bon outil s'il est cre avec et pour celui qui doit s'en servir: la communaut qui doit inventer son propre dveloppement, son propre muse".(9) A introduo destes novos conceitos e a sua discusso nos organismos que tutelam a orientao da prtica museolgica actual, conduziu, partida, a uma reflexo e uma reavaliao dos problemas que afectam o dia a dia dos museus. Estas diferenas de atitudes que separam as duas correntes museolgicas, constatadas a partir da realizao da "Mesa Redonda" de Santiago e desenvolvidas desde ento, no concorrem para a supresso dos chamados museus tradicionais, mas tm contribudo, isso sim, em muitos casos, para a modificao das relaes tradicionais Museu/Pblico, propondo novas formas de comunicar e promovendo um maior sentido de responsabilidades sociais da instituio. Numa tentativa de se adaptar aos novos postulados, vemos muitas vezes, os museus clssicos surgirem com uma nova terminologia, prpria do novo museu (novo no sentido em que representa novos ideais), sem que isso signifique uma alterao substancial dos seus objectivos, das suas estruturas e das suas actividades.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
49
Julgo ser pertinente aqui questionar, em que medida as grandes ou mesmo pequenas instituies museolgicas, que se encontram fortemente dependentes e pressionadas por um sistema administrativo e financeiro, demasiadamente rgido, podem "sobreviver", quebrar o seu prprio "isolamento" e se adaptar a uma nova realidade. Ao promover um novo processo de distribuio e participao comunitria das tarefas e responsabilidades na gesto e organizao dos recursos culturais e patrimoniais, os novos mentores da museologia, preconizam uma maior aproximao desta a outras reas cientficas, nomeadamente a economia, pela existncia de factores comuns entre estas duas disciplinas. "(. . .) O aprofundamento das questes museolgicas passar pelo reconhecimento da necessidade permanente de alargar o estudo da museologia ao mundo da economia. De certa forma, trata-se de retirar a museologia do gheto da cultura."(10) Assim, a museologia deve beneficiar das experincias inovadoras que o mais recente pensamento econmico transps para um novo tipo de empresa, de organizao, que reconhece no indivduo e nas suas capacidades de criatividade, o seu principal "capital". Observar-se que so os prprios museus que no tm sabido adaptar-se s novas condicionantes polticas e scio-culturais. Falar de comunicao no faz muito sentido se a situao estratgica dos museus continua a mesma. necessrio que os museus se mostrem interessados e preocupados pelos grandes problemas de desenvolvimento e da informao no mundo actual. S assim a comunidade se identificar com o espao/museu e com as suas actividades. O museu dever servir de catalizador de desenvolvimento programado pelos prprios governos, explicando quais os seus objectivos e participando nos seus prprios projectos de desenvolvimento, de maneira que estes se tornem melhor adaptados sociedade presente e futura. Muitas vezes os organismos de tutela, no querem ou no podem assegurar os mecanismos financeiros ou administrativos de forma a permitir que o museu cumpra com as suas responsabilidades. Necessrio se torna a discusso pblica destas questes. Por outro lado, importa que as autoridades responsveis reconheam a gravidade da situao e manifestem vontade poltica para iniciar a mudana. Isto particularmente importante para as instituies (mais antigas), que, muitas vezes negligenciadas ou esquecidas e isoladas do meio ambiente, atestam com o seu silncio, a sua prpria "certido de bito". Parece, primeira vista, ser bem mais difcil "dar vida" a uma instituio clssica e ultrapassada, do que criar um novo museu.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
NOTAS BIBLIOGRFICAS (1) "Rsolution adoptes par la Table ronde de Santiado du Chili", p. 199. (2) "Declaration de Caracas", "Museo y comunication" p. 6. (3) Idem, p. 7.
50
(4) SOLA, Tomislav, "De l'ducation la Communication", in NOUVELLES DE L'ICOM, Vol. 40, n 3/4, 1987, p. 5. (5) HUSHION, Nancy, "Les muses: y a t-il des limites?", in NOUVELLES DE L'ICOM, Vol. 45, n 2, 1992, p. 17. (6) SOLA, Tomislav, "De l'ducation la Communication", in NOUVELLES DE L'ICOM, Vol. 40, n 3/4, 1987, p. 6. (7) MOUTINHO, Mrio, "O Papel da "Nova Museologia" ou "Museologia Social" na Sociedade Contempornea", in O Lugar e o Papel das Cincias Sociais e Humanas na Modernizao de Portugal Contemporneo, Edies Universitrias Lusfonas, Lisboa, 1992, p. 61. (8) "Mouvement International pour une nouvelle musologie" (MINOM), in NOUVELLES DE L'ICOM, Vol. 40, 3/4, 1987, p. 22. (9) Ibidem. (10) MOUTINHO, Mrio, "O Papel da "Nova Museologia" ou "Museologia Social" na Sociedade Contempornea", p. 12. OUTRAS REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS "Muse et Communication", in MUSEUM, n 141, 1984, p. 8/13. CAMARGO-MORO, Fernanda de, "De Nouvelles voies pour l'organization du muse", in MUSEUM, n 153, 1987, p. 45/49. HUDSON, Keneth, "O Prmio do "Museu Europeu do Ano" como Indicador de Tendncias", conferncia integrada nas actividades da Comisso Nacional do ICOM, Museu Calouste Gulbenkian, 15 de Maio de 1990. MAYRAND, Pierre, "La nouvelle musologie afirme, in MUSEUM, n 148, 1985, p. 199/201. MENSCH, Peter Van, Musologie et Muse", in NOUVELLES DE L'ICOM, Vol. 41, n 3, 1988, p. 5/10. SOLA, Tomislav, "Concept et nature de la musologie", in MUSEUM, n 153, 1987, p. 45/49.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
51
A EVOLUO DE CONCEITOS ENTRE AS DECLARAES DE SANTIAGO E DE CARACAS
Texto 1 Lus MENEZES
O confronto analtico que aqui se preconiza entre a Declarao de Santiago do Chile e a Declarao de Caracas, no pode alhear-se dos momentos conjunturais em que ambos foram produzidos, como da realidade sobre a qual se debruam de forma particular, a Amrica Latina. Em primeiro lugar, o mundo contemporneo da Declarao de Santiago, incio dos anos setenta, um tempo em que na maioria dos pases da Amrica Latina se travam violentos combates para a institucionalizao da democracia, constituindo essa luta poltica uma condio prvia para a superao da sua profunda crise econmica e social, enquanto a Declarao de Caracas se insere num contexto em que as esperanas depositadas como o estabelecimento dos regimes democrticos j em grande nmero daqueles pases, no resultou numa alterao das condies econmicas e sociais pr-existentes, antes pelo contrrio, o ensaio de modelos poltico-econmicos desenquadrados das realidades scio-culturais a que se dirigiam, frustraram as expectativas e agudizaram essa crise, inerente a uma acelarada alterao de valores e desintegrao scio-cultural das comunidades. Em segundo lugar, o processo de transformaes a que se assistiu no mundo no intervalo de tempo de vinte anos, que separa a Declarao de Santiago da Declarao de Caracas, saldouse por um maior contraste entre os pases desenvolvidos e os subdesenvolvidos, ou tomando o modelo de Wallerstein sobre o sistema da economia-mundo capitalista, entre os pases do centro e da periferia, quando os progressos cientficos e tecnolgicos e a superao das fronteiras poltico-ideolgicas auguravam uma poca de maior justia, igualdade e solidariedade universal, cujo conceito de "globalizao" procurava corporizar essa ironia do destino. Os antagonismos expressos nesta viragem do sculo, no se colocam com tanta acuidade em 1972: o fortalecimento dos blocos econmicos que cavam cada vez um maior fosso entre os ricos e pobres; o progresso da cincia e tcnica que arrasta consigo desequilbrios do ecossistema e complexos problemas relativos sobrevivncia da humanidade; os fenmenos de massificao e uniformizao cultural produzidos por esta nova era da comunicao, que geram actos de aviltamento da identidade dos povos e das comunidades. Reconhecendo ambas as declaraes, que o avano da cincia e da tcnica permitiu civilizao material grandes progressos, mas sem equivalncia no domnio cultural, a reflexo feita na Declarao de Caracas sobre a conjuntura actual da sociedade latino-americana j nos d conta de uma cultura da violncia que se instalou com a crise econmica, contra o homem e a natureza, fruto da urbanizao descontrolada, das migraes campesinas em direco s reas
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
52
urbanas, o desmedido af do lucro, a corrupo generalizada, o trfico de drogas, a lavagem de dinheiro, etc.. No fundo, de uma para outra declarao assiste-se ao aprofundar da crise nos pases latinoamericanos, o nos pases da periferia dos sistemas, cuja degradao acelarada das condies de vida daqueles povos levanta hoje uma questo de natureza poltica complexa, a que pem j em causa a conscincia da necessidade de liberdade, i.e., o prprio fundamento do regime democrtico. Em sntese, quer a Declarao de Santiago quer a Declarao de Caracas, tm a grande coragem e o lcido mrito de denunciarem a situao de desigualdade e de injustia que se vive no mundo, e concretamente nos pases da Amrica Latina, ... os desequilbrios entre os pases com um elevado desenvolvimento material e os restantes margem desta expanso e que, mesmo, os tm servido no decurso da sua histria (Declarao de Santiago do Chile, v. 2.1 Considering). Assim, ambos os documentos encetam uma reflexo sistemtica sobre a misso das organizaes museolgicas na Amrica Latina a partir de um diagnstico sobre a realidade amarga do mundo contemporneo, e embora os momentos conjunturais da sua produo sejam diferentes, persistem idnticos problemas estruturais, o que explica que na Declarao de Caracas se reconheam como actuais os postulados essenciais firmados na Declarao de Santiago. Porm, os acontecimentos polticos, sociais e econmicos que se sucederam posteriormente ao ano de 1972 na Amrica Latina, as transformaes do mundo desde ento e as novas problemticas que se levantaram, obrigaram a uma nova reflexo sobre a funo do museu e a forma de aco por que se deve pautar para cumprir a sua misso como instrumento de desenvolvimento integral da comunidade - (...) Vinte anos depois ... deveis actualizar conceitos e renovar os compromissos adquiridos como aquela oportunidade. (Declarao de Caracas, v. Antecedentes) - o que procuraremos inferir do confronto entre aqueles dois documentos, pilares essenciais da Nova Museologia.
EVOLUO CONCEPTUAL Em ambos os documentos se reconhece o museu como uma instituio ao servio da comunidade. Instituio que tem como misso crucial participar na formao da conscincia da comunidade que serve, de forma a que esta apreenda atravs de um quadro histrico os problemas do seu presente, do homem que enquanto indivduo e, enquanto ser social. Ambos transferem para o museu um papel de protogonismo social, enquanto atento ao sistema ambiente que o circunda, como o dever de desempenhar um papel de liderana na formao de uma conscincia pblica sobre a defesa do patrimnio cultural e natural dos povos
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
53
latino-americanos, ou constituir-se como um instrumento eficaz de desenvolvimento integral da comunidade onde se insere. Neste ponto, importante realar que o museu devendo jogar um papel fundamental como meio de descoberta de solues para os problemas presentes da comunidade, se deve colocar como um espao catalizador da comunidade para a aco, no dirigista e interclassista, i.e., um espao aberto que envolve a participao de todos os sectores da sociedade. Em ambos os documentos em anlise, se reivindica para o museu um papel de vanguarda de transformao social, por via do processo interactivo que desenvolve com a participao da comunidade na tomada de conscincia dos seus problemas e da forma de os solucionar. O museu projecta-se no s como um instrumento de desenvolvimento e fortalecimento da identidade do indivduo e da comunidade, mas tambm como espao dinmico que propicia e estimula a conscincia crtica. nossa convico, que entre uma e outra declarao no existe uma evoluo do conceito de museu e da sua misso como agente de transformao scio-cultural, nem da noo de patrimnio, existe, isso sim, uma evoluo conceptual relativamente forma e aos meios que o museu deve pr ao seu servio para cumprir a sua misso, enquanto organizao cultural que deve trabalhar em interaco com a comunidade, que problematiza o seu quotidiano e se insere como plo dinamizador do seu desenvolvimento. Isto no significa, que os participantes da mesa redonda de Santiago do Chile no tenham reflectido sobre esta questo. No captulo das suas resolues, aponta-se mesmo para a necessidade de actualizar as tcnicas museolgicas tradicionais, como processo de melhorar a comunicao entre objecto e o visitante1, considerando que a onerosidade dos meios no deveria conduzir o museu a um gasto incompatvel com a situao dos pases latino-americanos, como tambm, sobre a necessidade dos museus se abrirem a especialistas de diferentes reas disciplinares, como uma necessidade inerente aos problemas novos e complexos das sociedades contemporneas, de modo a se obter uma viso global dessa realidade multifacetada, compreende os aspectos tcnicos, sociais, econmicos e polticos, e como processo que permitindo novas abordagens ou diferentes leituras, levantasse novas problemticas e fosse gerador de novas dinmicas. Todavia, a Declarao de Caracas abordando esta questo, projecta-a agora para um outro campo de anlise, no mbito de uma nova contextualizao do museu, onde se apreende a necessidade de explorar de forma sistemtica as vias e os meios de que dispe o sistema da economia de mercado e a nova era da comunicao. Infere-se, de que a reinvidicao para o museu de um papel de protagonismo social, como factor e meio de transformao, passa pelo domnio dos modernos sistemas de gesto das organizaes, ou melhor, pela definio de uma estratgia de apropriao dos modernos instrumentos de gesto de que dispem as empresas no mercado concorrencial.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
54
Perante as novas circunstncias da sociedade latino-americana da dcada de 90, deve o museu apetrechar-se dos conhecimentos de outras cincias para alcanar com maior eficcia e eficincia os objectivos da sua misso, e este processo passa pela inovao e consolidao de modernas estratgias de gesto. Aponta-se assim na Declarao de Caracas, para utilizao pelo museu de estratgias fortes de mercado, sem contudo desvirtuar os seus princpios ticos e alterar a sua misso. A eficcia na materializao dos seus objectivos, concebe-se ento como inerente sua capacidade de optimizao dos seus recursos humanos, financeiros e tcnicos, atravs da elaborao de um planeamento de aces a curto, mdio e longo prazo, segundo um diagnstico prvio do seu sistema ambiente que determina qual o seu espao social de actuao, e como forma de conseguir a autonomia de gesto e desempenhar um papel de liderana efectiva no processo de recuperao e sociabilizao dos valores da comunidade. Em sntese, podemos dizer, que se a Declarao de Santiago corporiza a ruptura epistemolgica no mbito da cincia museolgica, ao inverter o seu objecto tradicional prioritrio, a coleco, secundarizando-o em relao comunidade, o campo por excelncia operativo da Nova Museologia - quando no o objecto que justifica por princpio a existncia de uma organizao cultural como o museu - a Declarao de Caracas toma esta ruptura e leva-a mais longe, direccionando a sua reflexo essencialmente para os meios e processos de que a organizao museolgica deve dispr para uma gesto mais eficiente e eficaz. Enquanto na Declarao de Santiago, a concepo do museu como instrumento e agente de transformao social, era naturalmente inerente a um posicionamento poltico-ideolgico de oposio a um sistema econmico capitalista e a regimes ditatoriais na maioria dos pases da Amrica Latina, cuja possibilidade de utilizao dos meios ou processos de gesto das organizaes com fins lucrativos, tpicas do sistema, no se colocava, por se entender como um processo contraditrio ou corruptvel dos princpios morais ou ticos de uma organizao cultural com aquela misso, j na Declarao de Caracas, esta possibilidade no s assumida claramente como exigida, percebendo-se de que a melhor forma de o museu desenvolver a sua misso e assumir um papel de liderana social no seio de um mercado fortemente concorrencial, munir-se das mesmas 'armas' estratgias que os outros parceiros sociais, sem que isso implique a alterao dos seus princpios e objectivos. Esta a evoluo conceptual fundamental que entendemos reproduzir a Declarao de Caracas, explicada, em parte, por uma reflexo poltica e ideolgica que se generalizou a partir da dcada de 80, forada pela degradao e ruptura de sistemas e regimes paradigmticos da era contempornea, como o sistema socialista e capitalista, enquanto modelos de desenvolvimento econmico-social, ou os regimes de democracia liberal ou popular, enquanto estruturas polticoinstitucionais de legitimao do Poder, ainda que modelos com nuances conforme os seus espaos geogrficos e scio-culturais de implantao.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
55
NOTAS 1. Expresso a nosso ver pouco feliz, uma vez que o termo "visitante" nos parece desadequado relativamente concepo museolgica expressa.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
56
A EVOLUO DE CONCEITOS ENTRE AS DECLARAES DE SANTIAGO E DE CARACAS
Texto 2
Francisco PEDROSO de LIMA 1 - A Declarao de Santiago do Chile "On dirait que l'humanit ignore ce que sont les muses et quoi ils servent relment." Mrio E. Teruggi, um dos animadores da Mesa Redonda de Santiago do Chile de Maio de 1972, o autor desta frase publicada num artigo da revista Museum dedicado Amrica Latina e que me parece que de alguma maneira reflecte a situao dos museus perante a sociedade, nos incios dos anos setenta. De facto, esta reunio internacional, que juntou pela primeira vez muselogos com outros especialistas para discutir o papel dos museus na Amrica Latina, foi considerada por Raymonde Frin como uma nova experincia no que respeita a este tipo de encontros internacionais promovidos pela UNESCO. O carcter interdisciplinar desta reunio, fez com que os muselogos fossem confrontados com outros problemas, levantados pelos outros participantes, como as condies de vida das populaes na Amrica Latina o que obrigou aqueles a tomarem conscincia do muito pouco ou quase nada que se tem feito nos museus sobre esta rea e revelar de facto o divrcio existente entre o Museu e a Comunidade. Por outro lado, os muselogos sentiram que o seu trabalho produzido nos museus, no era insensvel s questes econmico-sociais como servia essencialmente para sua satisfao, e no era propriamente acessvel s populaes a quem se destinavam. Esta mesa redonda, organizada pela Unesco em 1972, produziu alguns documentos que vamos em seguida analisar. Comecemos pelos princpios de base do Museu Integral, que uma participante, Grete Mostny Glaser, definiu assim: "Nous avons pu dfinir le type de muse qui s'adapte notre situation: le muse intgral, c'est--dire un muse qui participe la vie du pays et prsente les objects dans leur contexte recre". No que respeita s resolues adoptadas pela mesa, destacamos no 1 ponto - Para uma mudana do museu na Amrica Latina, os seguintes considerandos:
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
57
- Que as transformaes sociais, econmicas e culturais so um desafio museologia. - Que a humanidade atravessa um perodo de crise profunda, e que o grande avano tecnolgico no tem sido acompanhado por um desenvolvimento cultural, o que provocou grandes assimetrias entre pases desenvolvidos e sub-desenvolvidos. - Que o problema do desenvolvimento das sociedades deve ser reflectido globalmente por todos os sectores da sociedade e no s por uma cincia ou um grupo social. - Que o museu como instituio ao servio de uma comunidade pode contribuir para a reflexo desta problemtica. - Que este contributo no vai desvalorizar os princpios tradicionais dos museus, mas sim enriquec-los, porque vai obrigar os muselogos a abrirem os seus domnios a outros especialistas de outras reas. - Que por estas caractersticas, o novo tipo de museu - museu integral - ser um espao mais vocacionado para uma regio ou uma localidade. Depois destes considerandos props-se o seguinte: 1 - A necessidade de abrir os museus s disciplinas que no entram tradicionalmente nas suas competncias, para haver uma melhor compreenso sobre o desenvolvimento das naes sul-americanas. 2 - Os museus devem intensificar o seu trabalho na recuperao do patrimnio cultural e us-lo para fins sociais a fim de o melhor preservar. 3 - Os museus devem tornar o seu esplio acessvel no s aos investigadores mas a todos os interessados. 4- As tcnicas museogrficas devem ser modernizadas para melhorar a comunicao objecto - pblico. 5 - O museu deve criar os seus sistemas de avaliao para verificar a eficcia da sua aco na Comunidade. 6 - Aperfeioar e desenvolver a formao e reciclagem do pessoal dos museus. Refere ainda em relao ao meio rural, a divulgao de tecnologias capazes de melhorar a vida comunitria, assim como solues para os problemas do ambiente. Em relao ao meio urbano, os problemas do seu crescimento desenfreado. No campo do desenvolvimento cientfico e tcnico, os museus devem estimular o desenvolvimento tecnolgico adequado comunidade e sero potenciais difusores desses progressos atravs de exposies itinerantes, contribuindo ao mesmo tempo para a descentralizao da sua aco e impacto. Na rea da educao permanente, prope-se criar servios educativos para actuar no interior e exterior do museu; os museus estaro integrados nas
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
58
polticas nacionais de ensino com servios especficos e atravs de meios audio-visuais difundiro conhecimentos nas escolas e meios rurais. A criao de uma Associao Latino-Americana de Museologia (ALAM) com o fim de melhor resolver os problemas museolgicos desta regio. Finalmente apresentam um III captulo com um conjunto de recomendaes dirigidas UNESCO: - Para que este organismo internacional, divulge esta nova concepo de aco dos museus - museu integral - destinado a fornecer comunidade uma viso global do seu ambiente natural e cultural. - A UNESCO deve continuar a intensificar a formao e reciclagem dos recursos humanos dos museus. - A UNESCO deve recomendar aos Ministrios de Educao e Cultura, assim como aos organismos responsveis pelo desenvolvimento cientfico, tcnico e cultural, de considerarem os museus como um meio de difuso dos progressos realizados nessas reas. Para finalizar no deixa de ser curioso reflectir nas palavras de Mrio Teruggi na revista museum acima citada: "...il est fort probable que les consquences de La Table Ronde de Santiago auront une rpercussion profunde et durable dans le monde de la museologie. Non seulement cause de l conception du muse intgral qui en est result, mais aussi parce qu'il semble que ce soit une trs bonne politique d'inviter l'avenir aux runion de musologues des personalits minentes de difrents domaines du savoir. Jusqu' prsent, seuls les ducateurs y ont particip frquemment..." . II - Declarao de Caracas Em 1992, integrado no Programa regular de Cultura da Unesco para a Amrica Latina, e sob o ttulo La mision del museo em Latino Amrica hoy: nuevos retos, realizou-se um seminrio em Caracas, Venezuela. Os aspectos mais importantes discutidos neste seminrio foram: - A insero de polticas museolgicas nos planos do sector da Cultura e a importncia que podero ter no desenvolvimento dos povos. - Reflexo sobre a aco social do museu. Anlise dos propsitos tericos dos museus do futuro. - Estratgias para captao e controle de recursos financeiros. - O perfil dos profissionais para as instituies museolgicas. - O museu como um meio de comunicao.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
59
Dentro destes aspectos foram tratados com profundidade os seguintes pontos: - Museus e comunicao - Museus e gesto - Museus e recursos humanos - Museus e patrimnio Nos antecedentes, reconhece-se o papel fundamental da Mesa Redonda de Santiago - esa reflexion fue el fundamento para un nuevo enfoque en la accin de los museos en la region. Constata-se a vigncia dos seus postulados essenciais, assim como a realizao em duas dcadas, de experincias de muito valor no sentido de transformar o museu num instrumento eficaz para o desenvolvimento integral. No entanto reconhecese igualmente que a poca em que nos encontramos e a sua multifacetada problemtica requer uma nova reflexo assim como aces imediatas e adequadas para que o museu cumpra a sua misso social. Devem-se pois actualizar os conceitos e renovar os compromissos adquiridos naquela oportunidade (Santiago, 1972). A situao no mundo, e particularmente na Amrica Latina, tambm no melhorou, seno vejamos: - Aprofundam-se as brechas entre os pases do 1 mundo e dos outros em vias de desenvolvimento. - O desenvolvimento extraordinrio da cincia e tecnologia abriu inmeras possibilidades, mas ao mesmo tempo insondveis abismos que podem provocar desequilbrios irreversveis. - Estamos na poca das comunicaes. As distncias foram reduzidas substancialmente, no entanto esta possibilidade pode standarizar o homem e uniformizar a sua cultura, mediante a difuso de paradigmas. - Os modelos econmicos e tecnicistas aplicados nos anos setenta na Amrica Latina sofreram um rotundo fracasso, porque se encontravam desajustados da sua realidade socio-cultural. Em consequncia, o nvel de vida baixou e entre 46% e 60% da populao se encontra nos limites da pobreza crtica. A dvida externa da A. Latina ascende a mais de 400.000 milhes de dlares, o que implica cada ano 30.000 milhes de dlares. - Intimamente ligado com o problema econmico, verifica-se uma degradao de valores morais - corrupo, trfico de drogas, violncia sobre o homem e o ambiente, urbanizao descontrolada, etc., que podem levar a uma crise poltica e pr em risco a democracia to arduamente conquistada nesta regio. - A tendncia para a privatizao e de confiar sociedade civil responsabilidades at agora atribudas ao Estado e que podem pr em perigo o patrimnio cultural.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
60
Apesar de este panorama negativo, reconhece-se que a A. Latina depositria de uma grande riqueza humana espalhada por um vasto territrio com imensos recursos culturais e naturais. Perante estes novos antecedentes pode-se afirmar que o museu ter hoje uma misso transcendental a cumprir na A. Latina: Debe constituirse en instrumento eficaz para el robustecimento de la identidad cultural de nuestros pueblos y para su conocimento mutuo - fundamento de la integracion - Tiene tambien un rol essencial en el processo de demitificacin de la tecnologia, para su asimilacin al desarrolo intergral de nuestros pueblos. Por fin, un papel imprescindible para la toma de conciencia de la preservation del medio ambiente, donde hombre, naturaleza y cultura forman un conjunto armnico e indivisible. Depois de analisar a profunda crise que atravessa a A. Latina, os participantes consideraram este Seminrio, ocasio inadivel para analisar os novos desafios propostos aos museus e postular as aces para enfrent-los. O museu na A. Latina enfrenta os desafios impostos pelo meio social onde se insere, pela comunidade a que pertence e o pblico com quem comunica. Para enfrentlos necessrio: - Potencializar a sua qualidade de espao de relao entre os indivduos e o seu patrimnio onde se propicia o reconhecimento colectivo e se estimula a conscincia crtica. - Estabelecer relaes entre o Museu e o poder poltico, para este melhor compreender e comprometer-se com a aco do museu. - Desenvolver a especificidade da linguagem museolgica como mensagem aberta, democrtica e participativa. - Lutar pela valorizao social do trabalhador do museu, em termos de reconhecimento, estabilidade e remunerao. - Adoptar o inventrio como instrumento bsico para a gesto do patrimnio.
III - Museus hoje: novos desafios Confrontando as duas declaraes, poderemos dizer que se a declarao de Santiago a tomada de conscincia de que os museus podero contribuir de alguma maneira para a desenvolvimento da sociedade e para a melhoria da sua qualidade de vida, a declarao de Caracas j uma posio de consolidao da museologia no seio da sodiedade e para o desenvolvimento da sociedade e para a melhoria da sua qualidade de vida, a declarao de Caracas j uma posio de consolidao da museologia no seio da sociedade. Na realidade, em 20 anos no se poder dizer que a museologia no evoluiu e no ganhou expresso nas nossas vidas. Os ecomuseus, o aparecimento de um movimento para a nova museologia (MINOM), um maior interesse pelo patrimnio cultural e o proliferar de associaes para a defesa do patrimnio so um e exemplo disso.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
61
Evidentemente que o mundo mudou muito em 20 anos, e provavelmente a museologia no evoluiu tanto como poderia ou deveria. Talvez por isso, no incio da declarao de Caracas se afirma: "Hemos entrado ya en un nuevo siglo: la histria se acelera. Viejos dogmas que parecan inamovibles caen y con ellos los muros que marcaban fronteras ideolgicas y polticas. No entanto, os participantes deste seminrio em Caracas, no deixam de revelar alguma maturidade quando afirmam que a nova dimenso do museu na A. Latina na viragem do sculo, a de ser protagonista do seu tempo, e aqui apelam a todos aqueles que trabalham nos museus para enfrentarem condignamente este desafio. No podemos deixar de confrontar esta atitude, revelada em Caracas, com a angstia demonstrada por Mrio E. Teruggi em 1972, quando escreve que os museus na A. Latina, muito pouco ou nada tinham a ver com os problemas sociais econmicos e ambientais daquela parte do mundo. Hoje certamente as coisas j no estaro no mesmo ponto. Poder ento perguntar-se: Os museus na A. Latina sero j um instrumento eficaz na valorizao da Identidade cultural das suas populaes? Muitos concerteza que j de alguma maneira, preencheram essa funo. No entanto o que se prope em Caracas, tem outro alcance, quando se afirma que o museu no s a instituio idnea para a valorizao do patrimnio, como tambm um instrumento til para levar a cabo um desenvolvimento humano, equilibrado e um maior bem estar colectivo. Direi ainda que ao ler o documento onde apresentada a declarao de Caracas, tomei conhecimento de alguns problemas socio-econmicos que afectam a Amrica Latina. H 20 anos atrs se eu lesse algum documento relacionado com alguma conferncia ou seminrio de muselogos no teria certamente conhecimento sobre, por exemplo, aspectos econmico-sociais de uma regio. Este facto sem dvida, um indicador de que pelo menos alguns muselogos se encontram num bom caminho, ou seja, que a museologia por excelncia uma rea interdisciplinar e ou se afirma como tal ou estar irremediavelmente condenada. Para reforar esta ideia terminarei com um extracto da obra de Henri-Pierre Jeudy "Memoires du Social", que me parece revelador do papel da museologia hoje e das suas potencialidades futuras. Non seulement la musologie se veut interdisciplinaire mais elle montre, travers le dynamisme de ses investigations, comment on peut rflchir sur le sens de cette interdisciplinarit dans un contexte social complexe en rpondant des sciences passera-t-elle des laboratoires de recherche aux nouveaux muses? Au Canada, en Italie et dans d'autres pays encore, les comuses, les centres d'interprtation de la nature s'adjoignent dj de grands laboratoires de recherche et d'exprimentation.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
BIBLIOGRAFIA
62
TERUGGI, Mrio E., La table ronde de Santiago du Chili, in Museum vol., XXV, n 3. JEUDY, Henri-Pierre, Mmoires du social, P.U.F., Paris, 1986. MOUTINHO, Mrio, Museus e Sociedade Textos de Museologia. Cadernos do MINOM n 1, 1991 "MUSEUM" - ICOM - vol. XXV, n 3, 1973.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
63
A EVOLUO DE CONCEITOS ENTRE AS DECLARAES DE SANTIAGO E DE CARACAS
Texto 3 Joo Paulo MEDEIROS CONSTANCIA
A "nova museologia", alvo de inmeras reflexes durante as ltimas dcadas, tem despertado atenes e ganho adeptos, no s entre muselogos e especialistas, mas tambm entre o cidado comum que nas suas aces se v envolvido. Numa anlise sumria, pretende-se traar as linhas gerais da evoluo conceptual relativa aos fundamentos propostos para a museologia, que desde a mesa redonda de Santiago do Chile, tm vindo a tomar a forma e a consistncia de um corpo terico. Sem dvida uma das primeiras reflexes no mbito de uma mudana radical de atitudes nos museus, a Declarao de Santiago surge num contexto inequivocamente propcio ao debate sobre a misso social dos Museus e sobre o seu papel num desenvolvimento integrado das comunidades. No ter sido por acaso que esta declarao emerge de uma Mesa Redonda realizada em Santiago do Chile, no seio de uma Amrica Latina conturbada, onde eram crescentes as injustias sociais, os problemas econmicos e humanos e onde no eram, de todo, respeitados os mais elementares princpios de liberdade e democracia. A UNESCO, em 1972, incumbindo a Mesa Redonda de Santiago do Chile o tema "Papel do museu na Amrica Latina de hoje", e demonstrando uma preocupao de interdisciplinaridade, fazendo reunir especialistas de vrios domnios, procura uma avaliao da capacidade dos Museus em se adaptarem aos problemas postos pelo desenvolvimento da cultura social e econmica, da Amrica Latina de ento. Este esprito iria reflectir-se, no s numa anlise profunda do papel dos museus, como viria a traduzir-se num conjunto de recomendaes concretas, visando uma mudana de atitudes nos Museus. A preocupaao de interdisciplinaridade demonstrada pela organizao da Mesa Redonda, que constituiu, no dizer de Teruggi, uma inovao ao programa tradicional, procurou a formao de um grupo autogerador de motivaes alimentadoras de discusso em torno do tema em causa. Este ser por certo um dos factores circunstanciais da Mesa Redonda de Santiago que se reveste de importncia fundamental. A conscincia emergente de que a museologia deve ser encarada como uma cincia interdisciplinar, integradora de conhecimentos das mais variadas reas, reflecte-se na profundidade da anlise conseguida e nas recomendaes propostas, claramente traduzidas na declarao final. Assim, a Declarao de Santiago deixa transparecer uma reflexo de cariz sociolgico, bem patente no enfoque dos problemas sociais, econmicos e culturais da Amrica Latina. De um
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
64
modo global, poder-se- dizer que esta declarao se afirma como uma ntida rejeio usual introspeco dos museus, mais caracterstica de um coleccionismo individual mesquinho, e preconiza uma atitude de interveno social que ter de ter em conta os desafios inerentes s grandes transformaes mundiais, bem como os cenrios produzidos por um desenvolvimento tecnolgico acelerado, no acompanhado por um desenvolvimento cultural, principal responsvel pelo desequlibrio cultural e scio-econmico entre os pases. Fruto de uma profunda reflexo multidisciplinar, numa atmosfera de preocupao pelos problemas da Amrica Latina, a Declarao de Santiago do Chile concretiza uma nova concepo de Museu - o Museu Integral. Este novo conceito assenta sob o postulado de que os Museus so instituies ao servio da sociedade e que contm elementos que lhes permitem ajudar a moldar a conscincia das comunidades em que esto inseridos, estimulando o seu desenvolvimento, atravs da ligao de um passado/memria a um presente/realidade e procurando projectar em anteviso, um futuro/vontade. Assim, cortando radicalmente com a usual perspectiva histrica direccionada para o passado, proposta uma reformulao do discurso museal, que, assente numa viso dinmica da dimenso temporal, reverte o sentido do direccionamento dos museus, fazendo-os partir do passado e projectando-os no presente e no futuro. Nesta perspectiva os museus so enquadrados num processo de desenvolvimento das comunidades, constituindo-se como uma conscincia colectiva, fora motriz de uma evoluo sustentada. Deste modo pretende-se que seja equacionada a problemtica do homem enquanto indivduo e do homem enquanto ente social, integrado e identificando cada um com o seu meio natural e humano. Esta nova concepo assume para os museus uma funo social que at ento lhes era negada, e procura a sua adequao aos problemas e aspiraes das comunidades, intervindo activamente no seu desenvolvimento. O museu passa a ser sede de preocupaes pertinentes de um presente/realidade, onde os problemas ambientais, de sade pblica, de analfabetismo, de nutrio, de gesto dos recursos naturais, e tantos outros, iro constituir alvos privilegiados, norteadores da actuao/interveno dos museus. Estamos perante novos conceitos que no constituem, contudo, uma negao dos museus existentes, nem mesmo pretendem uma mudana terico-operatria que constitua uma ruptura epistemolgica fundamental com a museologia. Desta forma, continua subjacente aos novos conceitos a existncia de objectos, ou num sentido mais amplo - um patrimnio colectivo, que por reformulao, adequao e actualizao da museografia sero instrumentos privilegiados de interveno. Uma negao do objecto, ou de um patrimnio museolgico, consistiria no estabelecimento de uma ruptura tendente a originar um outro qualquer tipo de misso social. requerida a desmistificao do objecto mas aceite que sobre ele se edifica a museologia como cincia estruturada. As novas correntes de pensamento da museologia, que aqui encontram os seus fundamentos de partida, to somente pretendem que os museus assumam a sua funo social e
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
65
que, fazendo uso de um discurso museal de interveno, participem activamente no desenvolvimento das comunidades. A "nova museologia", emergente das ideias geradas em Santiago do Chile, tem vindo a adquirir, no sem controvrsia, um corpo terico e uma estruturao dos seus conceitos. Assim, tem-se assistido a uma evoluo conceptual traduzida numa melhor definio de objectivos, de campos de aco e de meios. Responsabilizados os museus pela sua funo social, vm alargados os seus horizontes, passando a considerar-se, em vez de um edifcio um territrio, em vez de coleces um patrimnio colectivo, em vez de um pblico uma comunidade. O carcter de interveno dos museus passa a pretender-se actuante, a nvel do indivduo e do colectivo, e procurado atravs da participao e do envolvimento comunitrio. Nos ltimos vinte anos testemunha-se a evoluo do conceito de eco-museu e o surgimento de inmeras reflexes de carcter teorizante que vo edificando a nova museologia. De acordo com Ren Rivard (1987) a nova museologia tender a constituir-se como meio de desenvolvimento de uma cultura crtica no indivduo, atravs das culturas populares e das culturas eruditas inerentes a cada tipo de museu. Desta forma,o discurso da nova museologia, valorizando o saber individual, dever incrementar o esprito crtico, moldando o indivduo e tornando-o um ser menos vulnervel. O papel do muselogo, neste novo contexto, ser o de organizar o discurso museal, gerar formas de comunicao, promover a participao comunitria, avaliar as aces do museu. O discurso museal, entendido numa perspectiva alargada, englobar os vrios aspectos de uma linguagem museogrfica, bem como todo um conjunto de aces e programas. Este discurso, como um intuito de adequao aos problemas da comunidade e que tender a constituir-se em formas de comunicao permanentemente renovadas, ser to mais rico quanto maior for a sua capacidade de equacionar questes e promover a reflexo. Duas dcadas depois da reunio de Santiago do Chile, novamente na Amrica Latina, a misso social dos museus volta a ser discutida, numa perspectiva semelhante. A declarao agora produzida, conhecida por Declarao de Caracas, reitera a validade dos postulados essenciais da Mesa Redonda de Santiago e reflecte, claramente, a evoluo dos conceitos dela emergentes. Assente na necessidade de que os museus Latino-americanos devem cumprir a sua misso social, a Declarao de Caracas, prope tambm uma reflexo do papel dos museus, integrada numa anlise social poltica e econmica da Amrica Latina. So levantados e actualizados os problemas inerentes ao mundo actual, como sejam o desequilbrio profundo entre pases, o desenvolvimento cientfico e tecnolgico, a era das comunicaes, o descalabro econmico dos pases em vias de desenvolvimento, as questes da cultura e do ensino... . A todos os desafios postos pelos problemas da actualidade, os museus devem saber estar atentos, adequar-se e dar resposta.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
66
Assim, e continuando a considerar o museu como um agente privilegiado de desenvolvimento integral da Regio, a Declarao de Caracas reflecte, incontestvelmente, muitos dos conceitos que nos ltimos anos tm vindo a ser aceites pelas correntes de pensamento da Nova Museologia. O museu reafirmado como um domnio de interveno, onde a comunidade, definida no espao social do prprio museu, deve encontrar um lugar para se exprimir. Nesta declarao bem patente a importncia que tm sido dada participao comunitria no discurso museal, e ao coneito de museu, como resultado da inter-relao de um espao, de uma comunidade e de um patrimnio. igualmente bem clara a reafirmao da necessidade dos museus serem promotores de uma conscincia crtica na comunidade, tal como havia proposto Henri Rivard. Em termos formais aceite que os museus so poderosos meios de comunicao, bidireccionais, tendentes a tornar-se veculos de um processo interactivo onde no haja manipulaes ou imposies de valores ou de sistemas de qualquer tipo. Neste sentido, o museu ter de ser capaz de um discurso museal de linguagem aberta, democrtica e participativa. S assim a mensagem poder ser acessvel, amplamente compreendida, e transformada em enriquecimento individual, conducente por sua vez, a uma transformao da sociedade. Relativamente ao patrimnio museolgico, pea em torno da qual se escreve o discurso museal, no restam dvidas da sua importncia. defendido que o objecto, sem valor intrnseco, assume valores e significados nas vrias linguagens culturais em que est inserido. Deste modo valorizado o objecto e a sua circunstncia. O inventrio do patrimnio dever continuar a ser um instrumento da sua gesto. Nesta declarao so focados, com especial ateno os problemas relativos aos recursos humanos e gesto e administrao dos recursos materiais. Assume-se claramente que no podem ser descurados estes aspectos, indispensveis concretizao dos objectivos. Esta viso pragmtica fundamental, numa perspectiva de adequao s condies scio-econmicas e na integrao em questes de poder poltico. Em face do exposto, pensa-se que a Declarao de Caracas pode ser vista como a traduo obrigatria de duas dcadas de reflexo e de amadurecimento da museologia. Em todo o caso, esta declarao no apenas um reflexo de uma evoluo conceptual, mas constitui, tambm, para a museologia, uma notvel contribuio em termos formais e operatrios.
BIBLIOGRAFIA MINOM, 1991. Textos de Museologia. Jornadas sobre A Funo Social do Museu. Cadernos do MINOM n 1. RIVARD, Ren. 1987. Museologie et Cultures. Communication au 4e Atelier International de la nouvelle musologie (MINOM). Aragon (Espagne).
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
67
TERUGGI, Mrio E. 19.. . La Table Ronde de Santiago Di CHILI. Rev. Museum. Paris. UNESCO, 1973. Declaration of Santiago (Chile). Museum. Paris V 24 n 3 UNESCO. 1972. Declaration de Caracas. Caracas.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
68
EVOLUO DE CONCEITOS ENTRE AS DECLARAES DE SANTIAGO E DE CARACAS
Texto 4 Otlia MORGADO F. JORGE
"Eu tenho uma antena parablica na minha casa e sei tudo o que se passa na Europa, mas no sei quem mora no meu prdio, nem conheo bem a minha rua."
Annimo, IV Jornadas MINOM 1991, in Boletim Informativo do MINOM, n 4 , Jan. 1992.
Pensar o Museu nos nossos dias pensar numa organizao perfeitamente integrada na comunidade para a qual existe. Desta forma, o Museu no poder encerrar-se no espao fsico do seu edifcio nem centrar as suas investigaes nas coleces que possui, mas alargar-se a um campo de investigao multidisciplinar relacionado com a regio onde se insere. Assim, o Museu deixar de ser um mero depsito da memria e passar, a par de outras instituies, a porpr alternativas para o desenvolvimento local. Esta maneira de sentir o Museu consubstanciou-se na declarao de Santiago do Chile, aps uma reflexo conjunta acerca do "Papel dos Museus na Amrica Latina". Na Mesa Redonda efectuada naquela cidade evidenciou-se que a resoluo dos problemas dos pases latino-americanos passava atravs do entendimento pela comunidade dos aspectos polticos, tcnicos, econmicos, sociais, culturais e naturais que os envolvem. Neste campo o Museu seria, alm de um espao, um veculo para a tomada de conscincia por parte da populao no s da sua verdadeira situao bem como da inteno de a resolver atravs de uma aco participativa e dinmica de forma a beneficiar com essa resoluo. A realizao desta Mesa Redonda inseriu-se no contexto de uma tomada de conscincia de que se por um lado a humanidade tinha atingido um substancial desenvolvimento cientfico e tecnolgico, o mesmo no acontecia em termos de bem estar econmico, cultural e natural. Verificou-se igualmente a existncia de um notrio desequilbrio entre os pases desenvolvidos e os em vias de desenvolvimento, para alm de que a resoluo deste desequilbrio no se encontrava numa nica cincia ou disciplina, mas sim numa "viso de conjunto e tratamento integrado dos seus vrios aspectos". Dentro desta viso de conjunto o Museu, sem negar a importncia e o valor dos existentes, deveria ultrapassar os seus fins tradicionais de recolha, conservao, investigao e divulgao do seu acervo, e abrir-se a um novo conceito de Museu que passaria a ter no s uma funo cultural mas igualmente uma funo social.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
69
Este Museu activo e participativo teria, de acordo com a sua funo social, de recorrer a saberes multidisciplinares de forma a poder ser um veculo no s de promoo de uma maior consciencializao por parte da populao da importncia da salvaguarda da sua herana cultural, patrimonial e natural mas igualmente de disseminao de conhecimentos cientficos e tecnolgicos com a finalidade de melhorar o bem estar econmico, fsico, social, cultural e natural da comunidade onde est inserido. Assim o Museu deve: 1. Conjuntamente com a populao que serve e para a qual existe, intensificar esforos de recuperao da sua herana cultural, patrimonial e natural; 2. Actualizar as tcnicas museolgicas e museogrficas de forma que os objectos expostos sejam melhor compreendidos pelo pblico/populao; 3. Utilizar tcnicas que levem o Museu a aperceber-se da receptividade na comunidade das aces por si realizadas; 4. Promover a educao permanente da comunidade;5. Estimular o desenvolvimento tecnolgico baseado nas condies reais da populao. Com a declarao de Santiago, muselogos de outras regies do globo, encontram novas perspectivas de aco bem como resposta a determinadas questes que a museologia especializada no consegue responder. Perspectiva-se, em suma, o carcter social e globalizante da aco e funo do Museu. Vinte anos mais tarde, novo encontro se efectua na Amrica Latina. Caracas acolher um conjunto de pessoas interessadas em reflectir em conjunto sobre "a misso actual do Museu como um dos principais agentes de desenvolvimento integral da regio", bem como em actualizar "os conceitos e renovar os compromissos estabelecidos em Santiago do Chile". Esta actualizao prende-se com as mutaes que o planeta sofreu no campo ideolgico, econmico e ambiental ao longo destas duas dcadas agudizando os problemas do globo: agravamento do fosso entre pases desenvolvidos e em vias de desenvolvimento, catstrofes ambientais, m repartio dos alimentos, corrupo e violncia, trfico e consumo de drogas para alm de uma preocupante inverso e perda de valores. Mutaes estas, que servem para mostrar que o modelo econmico utilizado com a finalidade de melhorar as condies de vida das populaes dos pases em vias de desenvolvimento no resultou, pelo contrrio as agravou; j que estes pases passaram de receptores a exportadores de capital, consequncia da sua crescente dvida externa, removendo capitais que poderiam ser aplicados na melhoria do nvel de vida das populaes ou seja no seu desenvolvimento integral. Igualmente a queda do muro de Berlim, smbolo da diviso ideolgica do globo abre as portas ao "paraso" que parecia vir a ser o conceito de globalizao. Conceito que encontra resistncias em diferentes regies do globo, j que por todos os continentes se vo afirmando as noes de nacionalismo e de regionalismo. Assiste-se ainda, no mundo urbano, a um isolamento das populaes no "ghetto" que se
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
70
transformou o seu apartamento, perdendo o contacto directo com a realidade envolvente, passando esta a ser quase exclusivamente aquilo que se passa na sua televiso. Perante todos estes problemas que afectam a sociedade em geral, o Museu como local privilegiado "no sentir" destas realidades deve afirmar-se como um agente principal para a sua tomada de conscincia por parte das populaes que serve, visando para alm do seu desenvolvimento integral o da regio onde se inserem. Utilizando as palavras de Joo Moreira (Museologia e Desenvolvimento - Jornadas sobre a Funo Social do Museu - cadernos do MINOM n 1) "O desenvolvimento local e regional no agora visto como derivando de desenvolvimento global do pas, mas sim precisamente o inverso. Na prtica, uma tnica fundamental posta na regio e no local, olhados agora como os espaos privilegiados do desenvolvimento". Assim "os novos museus vo ser a expresso do novo modelo de desenvolvimento descentralizado", situando-se "na vanguarda da recuperao/reformulao estrutural do capitalismo". Alm disso, o modelo econmico desenvolvido na dcada de setenta, apoiado essencialmente no capital, foi ultrapassado ao longo da dcada passada por outro recurso considerado de grande importncia para o desenvolvimento das organizaes; a informao. Ora, sendo o Homem possuidor, por excelncia, de informao caminhamos a passos largos para uma revalorizaao dos recursos humanos. Perante todas estas questes/problemas, o Museu tem de se assumir como um verdadeiro protagonista do seu tempo - a era da informao - e abrir novos caminhos de desenvolvimento assentes em aspectos considerados prioritrios: 1 - A Comunicao. O Museu o palco ideal para estabelecer esta comunicao na sua relao com os indivduos e a comunidade. Atravs de uma linguagem multidisciplinar possibilita-lhes o enriquecimento, no s relativamente ao conhecimento do seu passado bem como na utilizao de meios tecnolgicos e cientficos que contribuiro, no presente, para o seu desenvolvimento integral; 2 - O Patrimnio. Neste campo o Museu deve manifestar a sua preocupao perante o patrimnio cultural, natural e ambiental existente no seu pas sublinhando a urgncia da feitura de legislao para a sua preservao e salientar o papel do Estado como o garante idneo nessa proteco sem, contudo, descurar a importncia que as populaes assumem na preservao do patrimnio que as envolve; 3 - A Liderana. O Museu deve assumir o seu papel de liderana "no processo de recuperao e socializao dos valores da comunidade". Para isso o Museu integral deve possuir um conhecimento pleno da realidade envolvente de forma a poder intervir de uma forma eficaz. Igualmente os Museus especializados devem assumir a sua liderana nas reas temticas que
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
71
dominam. O objectivo ser formar uma conscincia crtica respectivamente na comunidade e no pblico; 4 - A Gesto. A Gesto do Museu deve estar ligada sua funo na comunidade. Funo esta que ser elaborada aps ter sido feito um diagnstico do ambiente externo. Esta funo manifestar-se- num programa de aces/intervenes a curto, mdio e longo prazo. O sucesso desta gesto est relacionado com a capacidade de se conseguir responder s solicitaes do ambiente externo; de um ptimo aproveitamento dos recursos financeiros, tcnicos e humanos; e da existncia de boas relaes com o poder e outras organizaes; 5 - Os Recursos Humanos. Uma das novas atitudes de uma boa gesto do Museu ser a de dar nfase aos recursos humanos, j que so estes os possuidores da criatividade e do conhecimento, noes to caras a quem faz depender o verdadeiro sucesso de uma organizao do seu recurso informao. Assim o Museu, ter de propr formao ao seu pessoal, orientada no s na valorizao deste recurso bem como na importncia da multidisciplinaridade para se conseguir ter uma acertada forma de comunicao com a comunidade para quem as suas aces existem. Em suma, pretende-se que o Museu seja cada vez mais o utenslio e no o fim da aco museal, que passar a pertencer informao. S assim o Museu ser um verdadeiro protagonista do seu tempo; valoriza o seu papel na sociedade e assume-se como um dos principais agentes para o desenvolvimento integral do Homem.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
72
INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL OF MUSEOLOGY (ICOM/UNESCO) 2 a 30 de Julho de 1993
Jos Manuel Brando Museu Nacional de Histria Natural R. Esc. Politcnica, 58 1294 LISBOA codex
Desde h sete anos que o ICOM, atravs do ICOFOM (comit para a formao), vem a desenvolver actividades de formao intensiva, de mbito internacional, destinadas ao aperfeioamento dos quadros tcnicos dos Museus, dando assim cumprimento s resolues tomadas durante os trabalhos da 23 Conferncia Geral do ICOM. Estes cursos, patrocinados pela UNESCO, tem decorrido no departamento de Museologia da Universidade Masarik em Brno, Repblica Checa, com o apoio do Museu da Morvia. Durante o ms de trabalho, os estudantes participam num intenso programa de conferncias, seminrios e visitas de estudo a museus e exposies, conduzidos pelos responsveis dos cursos e por um grupo internacional de convidados, especialistas nos vrios domnios da Museologia. dificil resumir um intenso ms de trabalho em meia dzia de pginas; deixamos no entanto algumas notas sobre os pontos altos do curso em que participmos.
1 - A UNIVERSIDADE DE MASARIK Fundada em 28 de Janeiro de 1919, a Universidade de Masarik a segunda maior Universidade Checa; conta actualmente com seis Faculdades (Artes e Letras, Medicina, Pedagogia, Direito, Cincias Naturais e Economia e Administrao), onde estudam cerca de 40 000 alunos. O Departamento de Museologia, foi criado em 1963 no seio do Departamento de Filosofia (Faculdade de Artes e Letras) e desde ento, tem vindo a promover cursos de psgraduao para a globalidade do pessoal tcnico dos museus checos e eslovacos. Actualmente, funcionam tambm neste departamento, alm dos cursos de ps-graduao, Mestrados e Doutoramentos em Museologia. convico dos responsveis pelo Departamento, que a imposio da Museologia como disciplina cientfica, tem uma importncia fundamental no apenas na afirmao do papel dos Museus na sociedade contempornea, como tambm como factor condicionante do seu prprio futuro.
2 - O MUSEU DA MORAVIA O Museu da Morvia em Brno, o segundo maior da Repblica Checa e um dos mais antigos Museus da Europa central; comemora presentemente 175 anos. Sediado no palcio Dietrichstein, importante monumento da arquitectura barroca e renascentista, constitudo por sete departamentos espalhados por outros tantos edifcios,
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
73
cobrindo os diversos ramos da Histria Natural e das Cincias Humanas, contando com um acervo global de cerca de milhes de objectos.
3 - ACTIVIDADES LECTIVAS 3.1 - Conferncias e Seminrios As conferncias e seminrios realizados durante o Curso, procuraram abarcar a globalidade dos principais temas nas diversas reas de trabalho e correntes da Museologia. Poderamos agrupar os principais tpicos abordados da seguinte forma: 3.1.1. Formao profissional Ao Coordenador cientfico do Curso, Dr. Vinos Sofka, Vice-presidente do ICOM e Presidente do ICOFOM, coube fazer o ponto da situao no que respeita ao enquadramento da Museologia (e dos Museus) na sociedade actual e a abordagem da problemtica da formao profissional do pessoal dos Museus. Neste domnio, verificou-se que, a nvel internacional, de um modo geral, a formao especfica dos profissionais dos museus relativamente pobre, sendo ainda poucas as oportunidades de ensino universitrio no domnio da Museologia. No domnio da formao, salientou-se o papel do ICOM/ICOFOM, tendo sido apresentados materiais de trabalho resultantes das suas diversas conferncias, nomeadamente os cadernos ISS (ICOFON Study Series, 1983-1991), MuWoP (Museological Working Papers) e MN (Museological News).
3.1.2. Metamuseologia O Director do Curso, Prof. Dr. Zbynek Strnsky(1), leccionou o mdulo "Introduo Museologia", durante o qual desenvolveu um modelo terico em que a Museologia foi apresentada como uma cincia de carcter trans-disciplinar, com um objecto muito preciso, apoiando-se numa metodologia prpria e desenvolvendo-se em vrias reas de trabalho. Para Z. Strnsky, a Museologia constitui um sistema de conhecimentos especficos, e, por isso, deve ser objecto de uma explicao terica, contextualizada do ponto de vista social, histrico e (meta)cientfico. O investigador prope assim a utilizao da expresso METAMUSEOLOGIA, para referir a teoria cujo objecto em si mesmo, a prpria Museologia. Considerando que a Museologia o "estudo das relaes especficas entre o Homem e a realidade" De acordo com este esquema, Z. Strnsky considera a Museologia como um sistema, que compreende vrios sub-sistemas, que se cararcterizaram muito resumidamente: * MUSEOLOGIA HISTORICA A misso da Museologia Histrica a descoberta e o conhecimento da origem, nascimento e evoluo do fenmeno museal; * MUSEOLOGIA SOCIAL A vocao da Museologia Social a descoberta da motivao da musealizao e da sua importncia para os indivduos e a sociedade.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
* MUSEOLOGIA TEORICA
74
A Museologia terica constitui a essncia do conhecimento museolgico. O objectivo desta disciplina a descoberta da motivao da relao especfica do Homem com a realidade, atravs da sua apropriao material e contextualizada. Teoria da Seleco Envolve a problemtica da recolha e da definio de objecto problemtica da localizao temporal da documentao. Teoria da "Thesaurisao" Numa segunda fase, a Museologia tende para a constituio duma coleco, pilar fundamental para a preenso e explorao dos valores culturais a preservar (os "thesaurus"ou coleces). Teoria da "Apresentao" O sentido da "musealizao" da realidade consiste na manipulao dos "thesaurus" no sentido de agir sobre a conscincia social; necessrio ter em conta que o valor museal no gira em torno do objecto em si mesmo, mas nas relaes objecto-sujeito. * MUSEOLOGIA APLICADA (MUSEOGRAFIA) O objecto da Museografia a descoberta dos processos, tcnicas e tecnologias que permitem a apropriao da realidade. uma rea multidisciplinar, na qual se aplicam saberes especficos de outras disciplinas, modificados no sentido da prossecusso das finalidades da Museologia. Principais domnios especficos: Management, Arqui-tectura, Conservao, Informao, Exposio, Relaes pblicas e Publicidade. A apresentao e discusso deste modelo, prolongou-se durante quase todo o ms, sendo as restantes conferncias e seminrios especficos articulados em cada um dos diferentes nveis do mdulo. Problema muito discutido e que ficou em aberto o da premente necessidade de elaborao de um glossrio de termos museolgicos, de modo a uniformizar o emprego da linguagem tcnica fundamental. A inexistncia de lxicos museolgicos, com a definio dos conceitos, acarreta srias dificuldades que ns prprios tambm sentimos durante as discusses; se muitos dos termos propostos so comuns nossa linguagem corrente, diferenas significativas h no que respeita aos conceitos envolvidos, dificuldade que em nosso entender se deve sobretudo falta do reconhecimento da Museologia como uma Cincia entre as outras Cincias. Alis pode acrescentar-se que a produo de um substrato terico da Museologia ainda relativamente escassa, se comparada por exemplo, com a produo de textos no domnio da Museologia Aplicada. museal, e a
3.1.3. A sociedade na hora actual Conferncias: Dr. V. Sofka - A Humanidade no final do sculo XX. Prof.Dr. P. Horak(2) - Ps-moderno contra moderno. Prof.Dr. K. Muller (3)- Cincia, cultura e Humanidade.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
75
Abordagem das grandes linhas do pensamento contemporneo; a mudana dos sistemas econmicos, valores e as transformaes sociais; reflexos na temtica e prtica museolgicas. 3.1.4. Museus, museologia e polticas museolgicas Conferncias: Dr. A. Desvalls (4) - Museus e sociedade - Polticas museolgicas Dr M. Bellaigue (5) - Museus e museologia - Nova Museologia e Ecomuseus Abordagem diacrnica do papel da museologia, alternativas de interveno e adequao dos Museus s realidades sociais contemporneas. Museus de sociedade e Ecomuseus; apresentao e discuso das experincias levadas a cabo em Frana, com as comunidades de Creusot e Montceau-les-Mines. 3.1.5. Comunicao e Pedagogia nos museus Conferncias: Dr. J. Hainard (6) - Expomos... perturbamos - Objectos manipulados Dr. M. Van Praet (7) - Contacto com os pblicos - Didctica dos Museus Problemtica da concepo das exposies. Construo do discurso museolgico, percursos, modos de exposio e estudo do comportamento dos visitantes. Animao e "ateliers" para grupos escolares nos Museus. 3.1.6. Documentao e informatizao Conferncias: Eng F.Gale(8) - Tratamento informtico das coleces. Organizao dos sistemas de arquivo e gesto de coleces. Utilizao de meios informticos nos museus. Este tema foi ainda tratado em visitas de estudo ao centros de documentao e informtica do Museu da Morvia, onde pudemos tomar contacto com os programas de inventrio e segurana que ali esto a ser desenvolvidos para todos os museus checos.
3.1.7. Museografia Eng F. Gale - Management e marketing dos Museus Dr. P. van Mench(9) - Museus: de que tm necessidade? Como dirigir um Museu? Eng A. Morgos(10) - Introduo aos problemas da conservao Arq. M. Ghafouri(11) - A arquitectura dos Museus Abordagem genrica dos problemas em cada uma destas reas especficas, nomeadamente: Museus como organizaes sem fins lucrativos; estrutura e organizao dos Museus; Polticas culturais; promoo da imagem de marca dos Museus; conservao e restauro de obras de arte; arquitectura de interiores em Museus; design e iluminao das exposies. 3.2- Visitas de estudo No decorrer do curso foram efectuadas diversas visitas de estudo a Museus, nomeadamente em Brno, Praga, Bratislava e Viena, tendo nalgumas delas sido tambm visitados os laboratrios de conservao e restauro e as reservas.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
76
Em Praga, o grupo foi recebido pelo Director-Geral dos Museus (Ministrio da Cultura) e pela Presidente do Comit nacional do ICOM, que fizeram um breve historial dos Museus Checos e um levantamento das principais dificuldades e desafios postos na presente situao de transio para a democracia. 3.2.1. Os museus Checos e Eslovacos O nascimento e evoluo dos Museus Checos e Eslovacos est intimamente ligada histria nacional e cultural dos dois povos. A semelhana de muitas outras instituies semelhantes, muitos dos actuais museus surgiram a partir de importantes coleces eclesisticas e profanas, reunidas desde a idade mdia, como por exemplo as coleces dos imperadores Carlos IV e Rudolfo II, no castelo de Praga (actual Galeria Nacional). Os primeiros museus remontam aos sculos XVIII e XIX; entre os mais antigos, contam-se os de Brno (1817) e Praga (1818). A Repblica Checa possui actualmente uma rede de 187 Museus e Galerias tuteladas pelo Ministrio da Cultura, que no conjunto perfazem um acervo global de cerca de 10 milhes de objectos, ocupando um total de cerca de 5 000 funcionrios. O grupo mais numeroso de museus, constitudo pelos museus regionais, muitos dos quais instalados em lugares histricos, ou consagrados a personalidades importantes da histria e da cultura. No seu conjunto, perfazem um nmero total de visitantes entre 8 e 10 milhes/ano. Na Eslovquia, existem presentemente 89 Museus e Galerias, tutelados pelo Ministrio da Cultura, autoridades locais e empresas, que empregam cerca de 1800 trabalhadores. A mais importante destas instituies o Museu Nacional Eslovaco, fundado em 1893, que conta entre os vrios plos (Cincias Naturais e Cincias Humanas), com um acervo de cerca de 3 milhes de objectos. Visitam-no anualmente cerca de 700 000 pessoas, das quais aproximadamente 20% so estrangeiros.
3.2.2.. As exposies Com poucas excepes, as exposies permanentes visitadas esto organizadas segundo tcnicas tradicionais. Salientem-se no entanto, pela elevada qualidade museogrfica, por exemplo em Praga, a exposio sobre os povos da Oceania no Museu Etnogrfico, que concilia uma sugestiva concepo dos expositores climatizados, com a utilizao de recursos audiovisuais fundamentais para a contextualizao das peas expostas. Com a abertura desta exposio o Museu recebeu a Meno Honrosa da EMYA em 1992. Excepo tambm a exposio permanente do pequeno museu da cultura judaica em Bratislava, que a par de uma criteriosa escolha das peas expostas, conseguiu um sugestivo design que sala aps sala, conseguem levar o visitante a uma integrao perfeita na ambincia dos ritos culturais da comunidade judaica. Constituu de certa forma uma decepo, a visita da exposio "Jan Amos Comenius(12), contribuio para a Humanidade", inaugurada em 1992 no mbito das comemoraes internacionais dos 400 anos sobre o seu nascimento. Preparada com recurso a grandes meios, esta exposio mostra-se insatisfatria, quer pelo projecto de arquitectura escolhido, quer pela informao prestada; ressalvem-se no entanto os excelentes programas audiovisuais, infelizmente apenas acessveis na sua plenitude, a quem domina lngua checa. Esta exposio tinha sido escolhida pelos responsveis do curso para um "estudo de caso", tendo o gupo de estudantes tido acesso ao projecto de arquitectura, guio e demais documentao da exposio. Merece tambm destaque muito particular, a nova exposio permanente sobre os povos da Polinsia e as culturas Maia e Asteca, no Museu Etnogrfico de Viena, quer pela cenarizao utilizada, quer pelos excelentes programas audiovisuais (diaporamas e computadores) disponveis.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
77
Particularmente interessante foi a visita ao Museu da Bomia Central (Roztoky), onde funciona um Centro de Conservao e Restauro, estabelecido no incio da dcada de oitenta, que presta assistncia ao conjunto dos museus Checos, no controlo e eliminao de pragas pelo emprego de radiaes gama. Trata-se como sabido, apenas de uma interveno curativa, no entanto de grande interesse face enorme quntidade de peas fabricadas com materiais orgnicos, existentes nos museus.
4 - NOTA FINAL Embora fundamentalmente terico, o Curso da ISSOM, revelou-se muito interessante, tanto pela abordagem modelizada que proporcionou, sistematizando claramente as diferentes reas de interveno da Museologia, integrando-as no contexto mais vasto da compreenso do fenmeno museolgico em si mesmo, como pelos seminrios sobre problemas especficos, nomeadamente nos domnios da estrutura e organizao dos Museus, organizao e avaliao de exposies e arquitectura e design de exposies. Embora seja discutvel, estamos convencidos que o estudo da teoria da Museologia etapa fundamental no treino profissional dos quadros dos Museus -, constitui um suporte bsico da pratica museolgica, pelo desenvolvimento de uma orientao social crtica e contribuindo atrvs das bases da compreenso do fenmeno museal, para a resoluo de problemas concretos. A Museologia terica pode tambm desempenhar um papel importante tanto no desenvolvimento de polticas culturais adequadas s realidades scio-econmicas de cada pas/regio. Muito enriquecedor foi tambm o trabalho realizado em grupo, durante e paralelamente s actividades lectivas. Vindos de 13 pases diferentes(13), o grupo de participantes teve oportunidade de partilhar experincias e ideias, proceder ao levantamento dos principais problemas profissionais que se colocam em cada um dos pases e apreciar e discutir projectos em curso ou a concretizar a prazo. As visitas de estudo realizadas, permitiram obter uma perspectiva geral do trabalho desenvolvido na globalidade dos Museus, tendo os responsveis pelo curso tentado cobrir os diferentes temas da rede museolgica internacional; foram assim, visitados, museus de Belas Artes, Museus histricos e arqueolgicos, Museus Etnogrficos, Museus da Cincia e da Tcnica e Museus de Histria Natural.
1 Director do Dep. de Museologia, Universidade de Masarik. 2 Dep. de Filosofia, Univ. de Masarik, Brno. 3 Academia da Cincias, Universidade Karluv, Praga. 4 Direco dos Museus de Frana, Paris. 5 Direco dos Museus de Frana, Paris. 6 Museu de Etnografia de Neuchatel. 7 Museu Nacional de Historia Natural, Paris. 8 Universidade Marsarik e Museu da Morvia.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
78
9 Academia Reinwardt, Amsterdo. 10 Museu Nacional da Hungria, Dep. de Conservao. 11 Arquitecto, Consultor ICOM. 12 J.A.Comenius (1592-1670), foi uma das mais ilustres personalidades Checas, cujo trabalho como historiador, filsofo e pedagogo se projectou na cultura Europeia do sculo XVII. Durante a sua atribulada vida, numa Europa central repartida entre vrias correntes filosficas e religiosas, J. Comenius viveu e trabalhou na Moravia, em Inglaterra, na Polnia, na Sucia, vindo a falecer na Holanda onde se radicara em 1656. O seu trabalho inspirou e influenciou o pensamento de vrias geraes e a sua mensagem humanista sobre a paz no mundo ainda hoje permanece viva. 13 Participantes da ISSOM 93: Egipto 6, Eslovnia 2, Estnia 1, Finlndia 1, Grcia 1, Letnia 1, Litunia 1, Malta 1, Mxico 1, Portugal 1, Repblica Checa 2, Romnia 1, Sucia 1.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
79
ESTGIO DE MUSEOLOGIA NO CENTRE INTERNATIONAL en FORMATION COMUSEALE, QUEBEQUE: O BALANO DE QUATRO ESTAGIRIAS
1. O curso de ps-graduao de Museologia Social, ministrado pelo ISMAG, proporciona aos finalistas vrios estgios em instituies museolgicas portuguesas e estrangeiras. De entre estes, destacamos o estgio no Centre International en Formation comusale, orientado pelo Prof. Pierre Mayrand, da Universidade do Quebeque, a que as signatrias deste artigo tiveram acesso. partida, este estgio constitua uma promessa de contacto com a PRTICA museolgica (depois da aprendizagem TERICA do curso de Museologia Social em Portugal), em instituies de uma qualidade verdadeiramente modelar, a todos os nveis, e com a colaborao de excelentes profissionais. Estas expectativas vieram a confirmar-se por inteiro. Alm disso, o estgio veio a revelar-se como uma oportunidade nica de contacto com personalidades e instituies conhecidas internacionalmente pelo seu mrito profissional e pelo seu vanguardismo e esprito de inovao no chamado movimento da Nova Museologia. Fazemos aqui questo de salientar o papel do Prof. Pierre Mayrand, que nos orientou e acompanhou ao longo deste estgio com uma sapincia e com uma amizade que jamais poderemos esquecer. Para ele e para Rene Rivard, que nos acolheu de braos abertos, os nossos sinceros agradecimentos, assim como para Michel Noel, Nicole Lamontaigne, todos os colaboradores do "comuse de la Haute Beauce" e, de um modo geral, todos os profissionais ligados museologia com quem contactmos e que to bem nos receberam. Por ltimo - last but not least ! - a estagiria Leonor S gostaria de agradecer o estmulo e o apoio que lhe foram dados pelo director do Instituto Nacional de Polcia e Cincias Criminais, Dr. Ferreira Antunes, sem o qual o Museu Criminalstico no teria beneficiado desta oportunidade nica de aprendizagem e experincia. 2. A estrutura do estgio revelou-se extremamente til e eficaz em termos de resultados, tendo como base dois vectores principais: - por um lado, o estipular de locais de trabalho bem precisos e definidos e a obrigatoriedade de cumprimento de tarefas e prazos; - por outro lado, uma grande liberdade de aco, que permitiu uma abordagem multifacetada e optimizada de toda uma vasta quantidade de informao.
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
80
O trabalho efectuado ao longo do estgio no Centre International en Formation comusale (13.7.93 a 23.8.93) dividiu-se em trs grandes momentos: - Observao activa, crtica e dirigida a um nmero aprecivel de instituies museolgicas canadianas e norte-americanas: Montral: Muse d'Art Contemporain, Muse des Beaux Arts, Mc Cord Museum; cidade do Quebeque: Muse de la Civilization, Centro de Interpretao da cidade; Boston: Children's Museum, Museum of Science; Nova Yorque: Museum of Modern Art, Metropolitan Museum, Guggenheim; Estado do Quebeque no geral: Muse des Civilizations (Hull); Museus regionais de Charlevoix e da Gaspsie; Economuseus do bronze (Inverness), do vidro (cidade do Quebeque) e do papel (Papeterie St.Gilles); Parques naturais de Forillon e du Bic. - Contactos com personalidades da museologia do Quebeque. - Integrao nas equipas de trabalho em diferentes ncleos do comuse de la Haute Beauce. A partir da recolha de informao e de documentao efectuada em todos estes momentos, foram elaborados e apresentados vrios trabalhos, em trs fases sucessivas: - 1 fase - Relatrios crticos sobre a Maison du Granit e sobre o Centre de St.Evariste (Ecomuse de la Haute Beauce), apresentados a 7. 8. 93 ao coordenador do estgio, Prof. Pierre Mayrand. - 2 fase - Balano geral e propostas de trabalho relativamente ao comuse de la Haute Beauce, apresentados a 22. 8. 93 ao coordenador do estgio, Prof. Pierre Mayrand. - Organizao de uma Soire Cultural Portugal-Quebeque (a 21. 8. 93) noticiada pela imprensa local (ver anexo 2). - 3 fase - Relatrio final apresentado ao coordenador do curso de Museologia Social, Prof. Mrio Moutinho. Para acompanhamento da estrutura do estgio, ver documentos dos Anexos. 3. Gostaramos de salientar os seguintes contactos estabelecidos, por se terem revelado particularmente interessantes e profcuos: - Pierre Mayrand, Professor de Museologia da Universidade do Quebeque, coordenador do Centre International de Formation comusale e fundador do comuse de la Haute Beauce. - Rene Rivard, consultor especialista e terico da Nova Museologia. - Michel Noel, Secretrio Geral do MINOM internacional. - Michel Laurent, conservador responsvel pelo sector das reservas do "Muse de la Civilization". - Gilles Gagn, muselogo responsvel pelo Economuseu do Bronze, em Inverness. - Os elementos das equipas de trabalhadores que integram o comuse de la Haute Beauce, particularmente as directoras do "Centre de St. variste" e da "Maison du Granit", respectivamente Nicole Lamontaigne e Ginette Gagnon. 4. De um modo geral, vimo-nos confrontadas no Quebeque com uma realidade museolgica a todos os ttulos notvel, resultado de uma aco cultural empenhada e eficaz que
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
81
no se tem poupado a esforos, principalmente nas trs ltimas dcadas, como teremos ocasio de especificar num prximo artigo. Por todo lado e a cada passo nos defrontmos com os sinais visveis de uma aco efectiva com vista conservao e divulgao sistemticas do patrimnio natural e cultural canadiano. Com efeito, apesar da exiguidade relativa da sua histria, de uma densidade populacional das mais baixas do mundo e da vastido dificilmente abarcvel do seu territrio, o Canad (e, mais especificamente, o Quebeque), conseguiu valorizar o seu patrimnio de um modo que poderemos considerar dificilmente excedvel. Verificmos tambm que esta valorizao encontra pleno eco no pblico, que acorre em massa a diversas destas instituies museolgicas, tanto no Canad como nos Estados Unidos, apesar do elevado custo de algumas entradas, se confrontado com os preos praticados no nosso pas. (Polticas de reduo de preos para crianas, estudantes, grupos escolares, famlias, a chamada "idade de ouro", etc., ou direccionadas para horrios muito especficos facilitam a entrada dos economicamente mais vulnerveis, assim como a vulgarizao de esquemas associativos de amigos dos museus permitem uma optimizao dos custos para os visitantes mais assduos). Defrontmo-nos, portanto, com verdadeiros hbitos de frequncia dos museus, em camadas etrias e sociais muito diversas. A esta realidade comum ao conjunto dos museus analisados (tanto museus tradicionais como museus inovadores) no so, com certeza, alheios factos to conhecidos como a dignidade dos espaos arquitectnicos escolhidos, a qualidade das coleces e de todo o trabalho subjacente de conservao, de investigao e de museografia; a grande importncia dada s exposies temporrias, patente na elevada percentagem de espao que lhes destinada (em termos de espao arquitectnico global), e na rotao constante de diferentes exposies; ou a existncia de servios educativos / de animao muito activos, para j no falar das campanhas de marketing e divulgao . No que diz respeito aos museus mais inovadores, para alm das preocupaes atrs referidas, viemos tambm encontrar outras. Estas formulam-se a partir de um vector principal que se define no s como tentativa permanente de ligao real com a comunidade, mas tambm de implicao da mesma comunidade em processos e actividades dos museus. Esta preocupao fundamental implica uma inverso total na prpria gnese e nas directrizes orientadoras dos museus: o museu j no nasce nem vive em funo dos objectos e das colecces que possui, mas nasce a partir de ideias e desenvolve-se em funo desses valores que tem de preservar e transmitir, servindo-se dos objectos para os comunicar. Este facto significa to s que os objectos, num museu, deixam de constituir um fim em si mesmo e passam a ser encarados como meios preciosos de transmisso de mensagens com variadssimos fins culturais. Simultaneamente, d-se outro facto muito importante, sem o qual no se torna possvel abarcar o fenmeno global de mudana: as ideias que se procuram transmitir no so ideias feitas, estticas e prontas a ser consumidas por um pblico passivo, mas ideias que, para alm de transmitir conhecimento, procuram tambm estimular a reflexo perante diversas questes importantes, ou seja, transformam o espectador num interveniente activo. Os resultados da materializao deste reformular de toda uma filosofia museolgica so bem visveis: estes novos museus so locais vibrantes de vida, locais onde o conhecimento e a reflexo se tornam sedutores, estimulantes e interactivos. Alguns exemplos flagrantes que poderemos dar deste novo tipo de museu sero o "Muse de la Civilization" da cidade do
CADERNOS DE MUSEOLOGIA N 1 1993
82
Quebeque, os centros de interpretao dos Parques Naturais de "Forillon" e do "Bic", o "Children's Museum" de Boston ou o "Museum of Science" da mesma cidade, que j tivemos ocasio de analisar anteriormente. Por ltimo mencionemos o "comuse de la Haute Beauce", pioneiro dos Ecomuseus no continente americano. Da sua aco conclumos que, apesar de todas as dificuldades e obstculos, constitui um verdadeiro agente de desenvolvimento e mudana de vocao regional, com o qual a regio da Haute Beauce muito tem beneficiado. O facto de termos tido ocasio de participar nas suas actividades e de partilhar o seu quotidiano constituu para ns uma verdadeira lio: no s uma lio de museologia prtica mas tambm - uma lio de vida .
NDICE DE ANEXOS 1- Programa de estgio 2- Comunicado do Comit d'action touristique et culturelle de St.Hilaire sobre comemoraes e actividades na mesma aldeia, incluindo uma "soire culturelle portugaise/qubquoise organise par un groupe de stagiaires portugaises em musologie sociale"
Você também pode gostar
- Museus Como Agentes de Mudança SocialDocumento26 páginasMuseus Como Agentes de Mudança SocialAna TorrejaisAinda não há avaliações
- Cartilha Patrimônio Sacro WebDocumento86 páginasCartilha Patrimônio Sacro WebAnaAinda não há avaliações
- Turismo, Desenvolvimento Local & Meio Ambiente:: Aglomeração Produtiva & Indicadores de SustentabilidadeNo EverandTurismo, Desenvolvimento Local & Meio Ambiente:: Aglomeração Produtiva & Indicadores de SustentabilidadeAinda não há avaliações
- Chagas Museologia SocialDocumento14 páginasChagas Museologia SocialTatiana Aragão PereiraAinda não há avaliações
- IBRAM DocumentacaoMuseologica M1 PDFDocumento28 páginasIBRAM DocumentacaoMuseologica M1 PDFEduarda Martelli100% (1)
- Museologia Roteiros Práticos Parâmetros para A Conservação de Acervos 5Documento144 páginasMuseologia Roteiros Práticos Parâmetros para A Conservação de Acervos 5Ren Tai100% (2)
- Entre utopias e memórias: arte, museus e patrimônioNo EverandEntre utopias e memórias: arte, museus e patrimônioAinda não há avaliações
- Museologia - Roteiros PráticosDocumento34 páginasMuseologia - Roteiros PráticosIale Camboim100% (2)
- A Cultura dos Novos Museus: Arquitetura e Estética na ContemporaneidadeNo EverandA Cultura dos Novos Museus: Arquitetura e Estética na ContemporaneidadeAinda não há avaliações
- Abordagens e experiências na preservação do patrimônio cultural nas Américas e Península IbéricaNo EverandAbordagens e experiências na preservação do patrimônio cultural nas Américas e Península IbéricaAinda não há avaliações
- Patrimônio Imaterial: Conceito e Panorama HistóricoDocumento5 páginasPatrimônio Imaterial: Conceito e Panorama Históricostagliano26Ainda não há avaliações
- O Processo de Orientação Vocacional Frente Ao Século XXIDocumento8 páginasO Processo de Orientação Vocacional Frente Ao Século XXIMayra Souza100% (1)
- Habitar o Museu com a Criança Pequena: Formação Colaborativa como PossibilidadeNo EverandHabitar o Museu com a Criança Pequena: Formação Colaborativa como PossibilidadeAinda não há avaliações
- 05-Museus-Colecoes e Patrimonios-Narrativas Polifonicas PDFDocumento392 páginas05-Museus-Colecoes e Patrimonios-Narrativas Polifonicas PDFPaola Ferraro AlvesAinda não há avaliações
- Manual Do TerapeutaDocumento12 páginasManual Do Terapeutafrancisco_luiz100% (1)
- 2020 Descolonizando A Museologia PDFDocumento422 páginas2020 Descolonizando A Museologia PDFFelipe Brito BarbieriAinda não há avaliações
- Termos e Conceitos Da Museologia - O Museu Inclusivo, Interculturalidade e Patrimônio IntegralDocumento296 páginasTermos e Conceitos Da Museologia - O Museu Inclusivo, Interculturalidade e Patrimônio IntegralKarolyn Soledad100% (2)
- Estudos Do Patrimonio Museus e Educa o 2 EdDocumento274 páginasEstudos Do Patrimonio Museus e Educa o 2 EdDenise DeodatoAinda não há avaliações
- O Papel Do Conservador-RestauradorDocumento18 páginasO Papel Do Conservador-Restauradorfctcr0% (1)
- Museologia Roteiros Práticos Planejamento de Exposições 2Documento34 páginasMuseologia Roteiros Práticos Planejamento de Exposições 2Ren Tai100% (2)
- Caderno de Diretrizes Museológicas N. 1Documento166 páginasCaderno de Diretrizes Museológicas N. 1Polly SantanaAinda não há avaliações
- Conceitos-Chave Da MuseologiaDocumento101 páginasConceitos-Chave Da MuseologiaKelly BarrosAinda não há avaliações
- Antropologia Jurídica (Rodrigo Freitas Palma) PDFDocumento253 páginasAntropologia Jurídica (Rodrigo Freitas Palma) PDFérica100% (1)
- VARINE BOHAN H Museus e Desenvolvimento Local Um Balanco Critico in Museus Como Agentes de Mudanca Social e Desenvolvimento Sao Cristovao Museu D PDFDocumento15 páginasVARINE BOHAN H Museus e Desenvolvimento Local Um Balanco Critico in Museus Como Agentes de Mudanca Social e Desenvolvimento Sao Cristovao Museu D PDFAndreyLeãoAinda não há avaliações
- A Narrativa Na Exposição MuseológicaDocumento9 páginasA Narrativa Na Exposição MuseológicaLorenna GonçalvesAinda não há avaliações
- Como Começa um Museu? Práticas Educativas e Reflexos da Interação entre Museu e PúblicoNo EverandComo Começa um Museu? Práticas Educativas e Reflexos da Interação entre Museu e PúblicoAinda não há avaliações
- 4 - Introducao A Museologia Social CPF - Sesc PDFDocumento172 páginas4 - Introducao A Museologia Social CPF - Sesc PDFHelena RomeroAinda não há avaliações
- Princípios Básicos de MuseologiaDocumento100 páginasPrincípios Básicos de MuseologiagkanetoAinda não há avaliações
- Entre o Cais do Valongo de ontem e o Museu do Amanhã: memória, mídia e temporalidades na zona portuária do Rio de Janeiro contemporâneoNo EverandEntre o Cais do Valongo de ontem e o Museu do Amanhã: memória, mídia e temporalidades na zona portuária do Rio de Janeiro contemporâneoAinda não há avaliações
- Turismo, Território E Patrimônio Histórico-culturalNo EverandTurismo, Território E Patrimônio Histórico-culturalAinda não há avaliações
- VARINE O Museu Comunitário Como Processo ContinuadoDocumento11 páginasVARINE O Museu Comunitário Como Processo ContinuadoLuisa CalixtoAinda não há avaliações
- Museus de Cidade: Um Estudo Comparado entre o Museu de Belo Horizonte e o Museu de AmsterdãNo EverandMuseus de Cidade: Um Estudo Comparado entre o Museu de Belo Horizonte e o Museu de AmsterdãAinda não há avaliações
- SANTOS, Maria Célia. Museus e EducaçãoDocumento19 páginasSANTOS, Maria Célia. Museus e EducaçãoThamilis Rufino100% (1)
- Estudos Sobre Amartya Sen 6Documento248 páginasEstudos Sobre Amartya Sen 6bbancke100% (1)
- O Papel Da Musealidade Ivo MaroevicDocumento6 páginasO Papel Da Musealidade Ivo MaroevicPa OlaAinda não há avaliações
- Politicas Publicas Do Patrimonio Cultural Ensaios Trajetorias e ContextosDocumento355 páginasPoliticas Publicas Do Patrimonio Cultural Ensaios Trajetorias e ContextosRoberto Basílio LealAinda não há avaliações
- Termos e Conceitos Da MuseologiaDocumento296 páginasTermos e Conceitos Da MuseologiaAlexandro JesusAinda não há avaliações
- Cury - Museu, Novas TendenciasDocumento17 páginasCury - Museu, Novas TendenciasStélia Castro100% (1)
- Organização e Gestão de Museus - Estudo e Análise para Um Modelo Sustentavel - TeseDocumento171 páginasOrganização e Gestão de Museus - Estudo e Análise para Um Modelo Sustentavel - Tesesalome4444100% (4)
- O Objeto Da Museologia - Anaildo BaraçalDocumento134 páginasO Objeto Da Museologia - Anaildo BaraçalTatiana Aragão PereiraAinda não há avaliações
- Marandino, Pataca. Educação em MuseusDocumento32 páginasMarandino, Pataca. Educação em MuseusErmelindaPatacaAinda não há avaliações
- Tratamento e Organização de Informações Documentárias em MuseusDocumento13 páginasTratamento e Organização de Informações Documentárias em MuseusSandra KroetzAinda não há avaliações
- Scheiner T. Museu, Museologia e A Relacao EspecificaDocumento21 páginasScheiner T. Museu, Museologia e A Relacao EspecificaJair J. G. QuirozAinda não há avaliações
- Arte e Museus No BrasilDocumento5 páginasArte e Museus No BrasilRômulo GonzalesAinda não há avaliações
- Aula O Patrimônio Cultural BrasileiroDocumento42 páginasAula O Patrimônio Cultural BrasileiroHenrique de SiqueiraAinda não há avaliações
- Informação em Arquivos, Bibliotecas e Museus - Lillian Alvares PDFDocumento48 páginasInformação em Arquivos, Bibliotecas e Museus - Lillian Alvares PDFaldairlucasAinda não há avaliações
- Conservação e Curadoria Do Patrimônio ArqueológicoDocumento101 páginasConservação e Curadoria Do Patrimônio ArqueológicoMAURO JUNIOR RODRIGUES SOUSAAinda não há avaliações
- MUSAS - Revista Brasileira de Museus e MuseologiaDocumento184 páginasMUSAS - Revista Brasileira de Museus e MuseologiaMa Be100% (1)
- Musealização Trabalho Final Brulon ProntoDocumento10 páginasMusealização Trabalho Final Brulon ProntoJoao PalmieriAinda não há avaliações
- Inventário - Museu de Arte Da PampulhaDocumento243 páginasInventário - Museu de Arte Da PampulhaMárcio Otávio - MarscalitoAinda não há avaliações
- O Brasil e A Criação Do Conselho Internacional de Museus (ICOM)Documento15 páginasO Brasil e A Criação Do Conselho Internacional de Museus (ICOM)hvcrj100% (1)
- Documentação Museológica - Helena Dodd FerrezDocumento7 páginasDocumentação Museológica - Helena Dodd Ferrezmbonas100% (2)
- Arquivos Bibliotecas Museu Repositorio PDFDocumento420 páginasArquivos Bibliotecas Museu Repositorio PDFGracy MartinsAinda não há avaliações
- CHAGAS Mario - Introducao Ou O Enigma Do Chapeuzinho PretoDocumento19 páginasCHAGAS Mario - Introducao Ou O Enigma Do Chapeuzinho PretoMichel Platini100% (1)
- Eduardo Hahn - Patrimonio Cultural - Politicas de PreservacaoDocumento104 páginasEduardo Hahn - Patrimonio Cultural - Politicas de PreservacaoJaime Mujica SallesAinda não há avaliações
- Alice Duarte - Nova MuseologiaDocumento19 páginasAlice Duarte - Nova MuseologiaAdrienne Firmo100% (2)
- Paraná memórias: histórias locais e ensino de históriaNo EverandParaná memórias: histórias locais e ensino de históriaAinda não há avaliações
- História da historiografia paranaense: matrizes & mutaçõesNo EverandHistória da historiografia paranaense: matrizes & mutaçõesAinda não há avaliações
- Angenot, M. O Discurso Social, Consensos e ResistenciasDocumento44 páginasAngenot, M. O Discurso Social, Consensos e ResistenciasMariano DagattiAinda não há avaliações
- Leotiradentes, RES Daniel e AlessandraDocumento5 páginasLeotiradentes, RES Daniel e AlessandraEvander Novaes MoreiraAinda não há avaliações
- 81Documento16 páginas81Anonymous o6OMUCkqdAinda não há avaliações
- Memorial de SociologiaDocumento5 páginasMemorial de SociologiaNágyla Janiny Ribeiro de JesusAinda não há avaliações
- A/r/tografia Como Metodologia e Pedagogia em ArtesDocumento8 páginasA/r/tografia Como Metodologia e Pedagogia em ArtesFabiane Michelle KitagawaAinda não há avaliações
- Projeto de Instrumentação Cirúrgica - FinalDocumento7 páginasProjeto de Instrumentação Cirúrgica - FinalceresncostaAinda não há avaliações
- Psicomotricidade e ArteDocumento32 páginasPsicomotricidade e ArteConselho Municipal de Politica Cultural de Naviraí (CMPCN)Ainda não há avaliações
- DocumentoDocumento4 páginasDocumentocapitaoteemokwaiAinda não há avaliações
- Modelos GestaoDocumento188 páginasModelos GestaoGreiciane ShaianaAinda não há avaliações
- Avaliação Presencial - 2 Licenciatura em Educação EspecialDocumento5 páginasAvaliação Presencial - 2 Licenciatura em Educação EspecialdanielleconsultoriaacademicaAinda não há avaliações
- A Construção Do Sistema de Proteção Social No BrasilDocumento15 páginasA Construção Do Sistema de Proteção Social No BrasilGuilherme Basso Dos Reis100% (1)
- Guia Didáctico de Física PDFDocumento66 páginasGuia Didáctico de Física PDFDaniel Afonso Paulo DaniloAinda não há avaliações
- Título Do Artigo: Subtítulo (Se Houver) Título Do Artigo em InglêsDocumento7 páginasTítulo Do Artigo: Subtítulo (Se Houver) Título Do Artigo em Inglêswe123456Ainda não há avaliações
- Delvanira Relatorio IIIDocumento14 páginasDelvanira Relatorio IIImaracir ataidesAinda não há avaliações
- Roteiro de Estudos Adamastor de Carvalho - Sociologia 1º BimestreDocumento1 páginaRoteiro de Estudos Adamastor de Carvalho - Sociologia 1º BimestreprofmarcossociologiaAinda não há avaliações
- DuranPena ZuleyJhojana D PDFDocumento194 páginasDuranPena ZuleyJhojana D PDFDoris Peña ZuñigaAinda não há avaliações
- Assumpcao LarissaDe MDocumento174 páginasAssumpcao LarissaDe MShirlley CunhaAinda não há avaliações
- Luiz BugarelliDocumento15 páginasLuiz BugarelliSergio AreloAinda não há avaliações
- Teorias Do Letramento - As Práticas Sociais de Leitura e de EscritaDocumento100 páginasTeorias Do Letramento - As Práticas Sociais de Leitura e de EscritaPós-Graduações UNIASSELVIAinda não há avaliações
- Sociologia Industrial e Do TrabalhoDocumento181 páginasSociologia Industrial e Do TrabalhoLindembergCleitonAinda não há avaliações
- Bianchi. o Conceito de Estado em Max Weber.Documento27 páginasBianchi. o Conceito de Estado em Max Weber.LeviflaAinda não há avaliações
- Atendimento Psicossocial Nos Serviços de Proteção Social Especial Do SuasDocumento15 páginasAtendimento Psicossocial Nos Serviços de Proteção Social Especial Do SuasatencaopsicossocialeducacionalAinda não há avaliações
- 09 Debates NER CabocloDocumento413 páginas09 Debates NER CabocloVictor DiasAinda não há avaliações
- ROSSI, Gustavo. A Militancia Politica Na Obra de Jorge AmadoDocumento12 páginasROSSI, Gustavo. A Militancia Politica Na Obra de Jorge AmadoGustavo RossiAinda não há avaliações
- 1 Caderno Des. Sist. - Interação Humano Computador 20.1Documento61 páginas1 Caderno Des. Sist. - Interação Humano Computador 20.1Edwin73952Ainda não há avaliações
- Direitos Fundamentais Do IdosoDocumento8 páginasDireitos Fundamentais Do IdosoRosivan NascimentoAinda não há avaliações