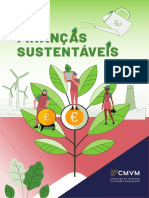Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Plano Diretor ENEF
Enviado por
Flávio Figueiredo Vicente0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
101 visualizações0 página1. O documento propõe uma Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef) para o Brasil com o objetivo de promover a educação financeira e ampliar a compreensão dos cidadãos sobre finanças.
2. A Enef foi desenvolvida por um Grupo de Trabalho durante 18 meses com contribuições do governo, iniciativa privada e sociedade civil.
3. O documento analisa o cenário da educação financeira no Brasil, desafios atuais e futuros, e propõe ações para educação financeira em
Descrição original:
Direitos autorais
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documento1. O documento propõe uma Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef) para o Brasil com o objetivo de promover a educação financeira e ampliar a compreensão dos cidadãos sobre finanças.
2. A Enef foi desenvolvida por um Grupo de Trabalho durante 18 meses com contribuições do governo, iniciativa privada e sociedade civil.
3. O documento analisa o cenário da educação financeira no Brasil, desafios atuais e futuros, e propõe ações para educação financeira em
Direitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
101 visualizações0 páginaPlano Diretor ENEF
Enviado por
Flávio Figueiredo Vicente1. O documento propõe uma Estratégia Nacional de Educação Financeira (Enef) para o Brasil com o objetivo de promover a educação financeira e ampliar a compreensão dos cidadãos sobre finanças.
2. A Enef foi desenvolvida por um Grupo de Trabalho durante 18 meses com contribuições do governo, iniciativa privada e sociedade civil.
3. O documento analisa o cenário da educação financeira no Brasil, desafios atuais e futuros, e propõe ações para educação financeira em
Direitos autorais:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 0
1
Estratgia Nacional de Educao Financeira
Sumrio
APRESENTAO ........................................................................................................................ 2
SEO 1 INTRODUO ......................................................................................................... 5
1.1 Importncia da educao financeira ....................................................................................8
1,2 Relao do brasileiro com o dinheiro ...............................................................................12
1.3 Competncia para educao financeira no Brasil ............................................................. 15
1.4 Estratgia Nacional de Educao Financeira .....................................................................19
SEO 2 CENRIOS E DESAFIOS PARA A EDUCAO FINANCEIRA .................. 22
2.1. Planejamento financeiro ................................................................................................ 22
2.2. Economia ....................................................................................................................... 31
2.3. Servios financeiros ....................................................................................................... 39
2.4. Crdito e juros ............................................................................................................... 46
2.5. Investimentos ................................................................................................................. 51
2.6. Previdncia social .......................................................................................................... 60
2.7. Seguros .......................................................................................................................... 72
2.8. Capitalizao ................................................................................................................. 78
2.9. Proteo e defesa do consumidor .................................................................................. 81
SEO 3 PROPOSTA DE ATUAO ................................................................................. 88
3.1. Educao financeira nas escolas .................................................................................... 94
3.2. Educao financeira para adultos ................................................................................ 110
SEO 4 GOVERNANA DA ESTRATGIA NACIONAL DE EDUCAO
FINANCEIRA ........................................................................................................................... 117
SEO 5 CONCLUSO ....................................................................................................... 124
2
APRESENTAO
O Comit de Regulao e Fiscalizao dos Mercados Financeiro, de Capitais, de
Seguros, de Previdncia e Capitalizao (Coremec) foi institudo pelo Decreto n 5.685, de 25 de
janeiro de 2006, com a finalidade de promover a coordenao e o aprimoramento da atuao das
entidades da administrao pblica federal que regulam e fiscalizam as atividades relacionadas
captao pblica da poupana popular. integrado pelo Banco Central do Brasil (BCB), pela
Comisso de Valores Mobilirios (CVM), pela Superintendncia Nacional de Previdncia
Complementar (PREVIC) e pela Superintendncia de Seguros Privados (Susep).
Com a finalidade de melhorar o grau de educao financeira da populao
brasileira, o Coremec constituiu Grupo de Trabalho (GT) por meio da Deliberao n 3, de 31 de
maio de 2007, com o objetivo de propor estratgia nacional de educao financeira. Tal proposta
deveria ser construda em conjunto com representantes do governo, da iniciativa privada e da
sociedade civil. Para tanto, foi autorizada a participao de membros auxiliares nos trabalhos do
grupo, selecionados entre aqueles que pudessem contribuir para desenvolvimento do tema
educao financeira. Esse trabalho em parceria objetivava construir proposta com legitimidade e,
principalmente, estabelecer compromisso para sua execuo.
Este documento consubstancia a proposta de Estratgia Nacional de Educao
Financeira (Enef), resultado de dezoito meses de trabalho do GT, instalado em novembro de
2007 e coordenado por representante da CVM. A Enef tem os objetivos de promover e fomentar
a cultura de educao financeira no pas, ampliar a compreenso do cidado, para que seja capaz
de fazer escolhas consciente quanto administrao de seus recursos, e contribuir para eficincia
e solidez dos mercados financeiro, de capitais, de seguros, de previdncia e de capitalizao.
Tais objetivos podero ser alcanados com esforo coordenado na execuo de
programas e aes contidos nesta proposta e com recursos que sero implementados de acordo
com as diretrizes e as orientaes da Enef.
3
A experincia internacional forneceu referncias relevantes para desenvolvimento
do trabalho, sendo utilizadas outras fontes de informao e subsdio. O grau de conhecimento
financeiro dos brasileiros, por exemplo, foi mapeado em pesquisa nacional realizada, em 2008,
por instituto de pesquisa contratado para esse fim.
Com o objetivo de auxiliar na execuo da Enef, foi lanado, em agosto de 2008,
o stio da Estratgia (<www.vidaedinheiro.gov.br>), com a finalidade inicial de cadastrar aes
de educao financeira, gratuitas e de contedo no comercial, existentes no Brasil, permitindo a
formao de inventrio nacional.
O documento se apresenta com a seguinte estrutura: a Seo I e a Seo II
fundamentam a proposta, apresentam cenrios e indicam alguns desafios para a Educao
Financeira; a Seo III e a Seo IV compem a proposta de atuao da Enef, delineando as
aes a serem desenvolvidas para crianas e jovens, por meio da escola, e para adultos, alm da
forma e da estrutura de governana futura da Enef; a Seo V apresenta a concluso. Integram a
proposta os documentos anexos, que contm o resultado de algumas atividades realizadas pelo
GT, como o resumo do inventrio de aes, o relatrio da pesquisa nacional e o levantamento de
algumas experincias internacionais. Tambm esto anexas propostas de aes educacionais para
cada um dos quatro setores do sistema financeiro nacional, conforme os seguintes mercados e
seus rgos reguladores: financeiro (BCB), de capitais (CVM), de previdncia social e
previdncia complementar fechada (PREVIC) e de seguros, previdncia complementar aberta e
capitalizao (Susep).
Esta proposta, poltica pblica de Estado, foi elaborada em momento histrico em
que o governo e a sociedade organizada adotam medidas para atenuar os efeitos locais de grave
crise financeira internacional. Integra o conjunto de polticas sociais macroeconmicas que
contribuem para o atual estgio de amadurecimento institucional do Brasil.
4
Combinada com as polticas sociais e econmicas adotadas desde a dcada de 90,
a Enef pode ajudar a prevenir a ocorrncia, em nosso pas, de desequilbrio similar ao gerado em
economias desenvolvidas. Desse modo, pavimenta uma trajetria sustentada de desenvolvimento
socioeconmico, reduo das desigualdades e promoo da cidadania.
5
SEO 1 INTRODUO
A evoluo recente da economia e a perspectiva de continuidade do processo de
desenvolvimento brasileiro, de forma sustentada, com incluso social, confirmam o mrito do
trabalho de economistas brasileiros, com repercusses que podem ser sentidas por toda a
sociedade. A perspectiva de longo prazo alvissareira, mesmo considerando crises externas.
Projees indicam que o Brasil poder sair da posio de dcima economia do mundo, medida
pelo Produto Interno Bruto (PIB), para a quarta posio, em 2050, superado apenas por China,
Estados Unidos e ndia
1
.
As polticas econmicas e sociais postas em prtica nos ltimos anos contriburam
para que o desenvolvimento se direcionasse tanto para crescimento do PIB quanto para
modificao da composio e da distribuio de renda da sociedade
2
. A classe mdia brasileira
(classe C) correspondia a 47% da populao, em 2007, ante 32% em 2002. Em nmeros
absolutos, estudo recente, realizado pelo Instituto Ipsos, mostra que, de 2005 a 2007, ou seja, em
apenas dois anos, cerca de 23,5 milhes de pessoas passaram a integrar essa classe, tornando-a a
maior entre aquelas que formam a pirmide social brasileira: cerca de 86 milhes de pessoas.
Assim, considerando-se ainda os 28 milhes que constituem as classes A e B, existem 114
milhes de consumidores, de mdia e alta renda, no Brasil.
Tal deslocamento da renda ocorreu de forma simultnea reduo da pobreza
extrema, assim definida como aquela situao em que o indivduo percebe renda inferior a um
dlar por dia. Entre 1992 e 2007, a parcela de pobres em situao de extremada carncia caiu de
11,73% para 4,94% da populao, o que representa encolhimento de quase 60% em quinze anos.
1
WILSON, Dominic; DRAGUSANU, Raluca. The Expanding Middle: the exploding world middle class and
falling global inequality. Goldman Sachs, 2008.
2
NERI, Marcelo Crtes; CARVALHAES, Luisa. Misria e a Nova Classe Mdia na Dcada da Igualdade. Rio
de Janeiro: FGV/IBRE, CPS, 2008.
6
Ao mesmo tempo, a desigualdade na distribuio da renda no Brasil,
tradicionalmente elevada, sofreu mudanas significativas, contrastando com a estagnao
observada nas dcadas de 70 e 90. Entre 1993 e 2007, o ndice
3
que mede o grau de disparidade
na renda foi reduzido de 0,604 para 0,556, segundo os dados do Instituto de Pesquisa Econmica
Aplicada (Ipea), representando migrao de riqueza entre os brasileiros.
No campo demogrfico, tambm ocorreram mudanas significativas. O Brasil
assiste hoje transio que a maioria dos pases desenvolvidos j viveu: o envelhecimento da sua
populao, resultante de queda na fecundidade e de aumento da longevidade.
Mantida a tendncia de reduo no ritmo de crescimento populacional observada
nos ltimos anos, especialmente se comparada com o ritmo observado entre 1950 e 2000,
quando o nmero de brasileiros passou de 52 para 170 milhes de habitantes
4
, mais que o triplo,
a estimativa que o Brasil alcance 200 milhes de pessoas em 2010. Em 2062, estima-se o
mximo de 264 milhes de habitantes.
A mudana foi tambm qualitativa, com claro envelhecimento da populao. A
expectativa de vida cresceu de 51 anos, em 1950, para quase 73, em 2008. Mantido o ritmo de
incremento da longevidade, a esperana de vida dos brasileiros chegar a 81 anos em pouco
tempo. Da mesma forma, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD) (2007),
revelou que a populao com 40 anos ou mais cresceu expressivamente (4,2%) em relao a
2006, e a mais jovem, de 0 a 14 anos, reduziu de 0,7%, no mesmo perodo.
Embora essas mudanas no possam ser exclusivamente imputadas s polticas
pblicas implementadas no Brasil, pois o crescimento da classe mdia e o aumento da
expectativa de vida tambm ocorreram em outros pases emergentes, sua contribuio para os
resultados obtidos no pode ser ignorada. Essa concluso se aplica tanto aos indicadores da
3
O ndice de Gini mede a desigualdade de renda em uma sociedade e varia entre 1 (maior desigualdade possvel) e 0
(igualdade de renda).
4
REZENDE, Fernando; TAFNER, Paulo (ed.). Brasil: o estado de uma nao. Rio de Janeiro: Ipea, 2005.
7
cobertura universal de sade e do acesso educao quanto s mudanas na composio da
renda, no obstante persistirem grandes desafios a enfrentar.
Estudo do Ipea evidenciou que 47% do declnio recente na desigualdade se deve
melhor distribuio da renda do trabalho, ou seja, de menos disparidade salarial, em parte
explicada pelo crescimento econmico com a criao de empregos no setor formal da economia.
Na rea social, os programas de combate pobreza, como os de transferncia condicionada,
explicariam 35% da reduo observada na disparidade da renda. Outros fatores, como melhor
qualificao dos trabalhadores, respondem por 18% dos resultados obtidos.
As consequncias dessas mudanas estruturais, nas dimenses demogrfica, social
e econmica, tero efeitos em longo prazo, ainda no totalmente descortinados. Os padres
atuais de consumo, poupana e investimento sero afetados no futuro, em decorrncia das
alteraes na composio e na distribuio da renda. Conforme estudo realizado pelas
consultorias Bain & Company e Euromonitor, estima-se que o consumo anual brasileiro dever
crescer de US$780 bilhes em 2007 para US$1 trilho em 2012. Com essa projeo, se
considerarmos a populao e o territrio nacional, o mercado brasileiro ser o terceiro dos que
mais contribuiro para o consumo no mundo
5
.
Embora os efeitos futuros sejam incertos, alguns impactos dessas mudanas j
podem ser sentidos na evoluo recente do sistema financeiro. Entre 2002 e 2008, o crdito total
na economia brasileira variou de 22% para cerca de 40% do PIB, percentual ainda pequeno em
relao a outros pases, mas que representa crescimento elevado em pouco mais de cinco anos.
Observa-se que esse salto no crdito no foi acompanhado por elevao de mesma proporo
na inadimplncia.
O crescimento da demanda dos consumidores e investidores por produtos e
servios financeiros tambm chegou a outros setores do sistema financeiro, como o de capitais,
5
STEFANO, Fabiane; LARISSA, Santana; ONAGA, Marcelo. O retrato dos novos consumidores brasileiros.
Exame, So Paulo, ano 42, n. 7, ed. 916, p. 20-30, 23 abr. 2008.
8
de previdncia complementar, de seguro e de capitalizao, que se tornam populares. Ao mesmo
tempo, os mercados vm se sofisticando, com ampliao do leque de opes no campo
financeiro oferecidas populao.
A sofisticao do sistema financeiro do pas acompanhou o desenvolvimento
global dos mercados financeiros, especialmente a partir da dcada de 70, com ampliao da
quantidade de produtos ofertados ao pblico, porm sem os excessos verificados em
outras economias.
Relatrios internacionais, como o Global Stability Financial Report, editado pelo
Fundo Monetrio Internacional (FMI), reconhecem que o sistema financeiro brasileiro bem
regulado e supervisionado. Quando comparados a pases de condies semelhantes de
desenvolvimento, os mercados so considerados slidos e diversificados.
Como resultado, a gama de produtos financeiros oferecidos aos consumidores e
aos investidores vem sendo ampliada, aumentando as opes dos indivduos, e, ao mesmo
tempo, atribuindo a eles mais responsabilidade pelas escolhas realizadas. A ascenso econmica
de novos consumidores coloca esses indivduos em contato com instrumentos e operaes
financeiras, sem que sejam preparados para compreend-los e lidar com eles. No apenas
difcil o acesso a informaes, mas tambm falta conhecimento para compreender as
caractersticas, os riscos e as oportunidades envolvidos em cada deciso.
A necessidade de educar as pessoas para atuar no meio financeiro determina a
realizao de ao conjunta do Estado e da sociedade.
1.1. Importncia da educao financeira
A educao financeira sempre foi importante para auxiliar as pessoas a planejar e
gerir sua renda, poupar, investir e garantir uma vida financeira mais tranquila. Nos ltimos anos,
sua relevncia cresce em decorrncia do desenvolvimento dos mercados financeiros e da
9
incluso bancria, bem como das mudanas demogrficas, econmicas e polticas. Os mercados
de capitais esto se tornando mais sofisticados, e novos produtos, cujos riscos e retornos no so
de imediato discernimento, so oferecidos. Os consumidores possuem acesso a mais
instrumentos bancrios, de crdito e de poupana, disponveis em vrios canais, desde
correspondentes bancrios, servios on-line de bancos e de corretoras, at organismos que
oferecem aconselhamento e suporte financeiro s famlias de baixa renda.
A variedade de instrumentos de crdito, poupana, investimento, seguro e
previdncia e de instituies que os oferecem tende a favorecer o consumidor, por permitir a
escolha de produto que seja mais adequado ao seu perfil e aos seus objetivos. Por outro lado,
tornam mais difcil a deciso, em virtude da necessidade de comparar as caractersticas de cada
opo para fazer escolha consciente, com boas informaes. Mesmo entre produtos bastante
assemelhados, podem existir diferenas significativas de risco, rentabilidade, custos, prazos e
direitos de fiscalizao, participao e informao.
Muitos produtos e servios financeiros ficaram mais complexos. Em muitos casos,
necessrio dispor de conhecimento profundo ou de habilidades especficas para compreender
plenamente as informaes prestadas pela instituio, mesmo quando apresentadas de forma
completa, precisa e adequada.
O acesso aos produtos, por outro lado, tambm ficou mais fcil. Alm da
expanso da cobertura do territrio nacional pelas instituies financeiras e seus agentes, os
avanos tecnolgicos reduziram custos de operaes e de ingresso em mercados organizados. A
utilizao da internet, como meio de informao, comunicao e de transmisso de ordens e
operaes, por bancos, corretoras e outros intermedirios, facilita e estimula entrada de
participantes no sistema financeiro, bem como realizao de novas transaes financeiras. Por
essa razo, tais mudanas, que se afinam com o crescente interesse nos recursos tecnolgicos das
10
novas geraes, atraem investidores de primeira viagem, muitos dos quais so jovens, com
pouca experincia em finanas.
Alm do impacto na reduo de custos, a internet facilita a proliferao de ofertas
irregulares de negcios e operaes financeiras, muitas vezes mediante promessas irreais de
rentabilidade. A obteno fraudulenta de dados bancrios e financeiros por mensagens
eletrnicas falsas tambm se torna frequente. Pelas caractersticas da rede mundial de
computadores, a atuao preventiva dos rgos fiscalizadores encontra dificuldades, muitas
vezes no superadas de imediato. Sendo assim, a medida mais efetiva para evitar golpes elevar
o grau de educao financeira do consumidor.
A esses fatores, soma-se o fato de que parcela significativa de responsabilidade
pelo futuro pessoal e familiar repousa na qualidade das decises de consumo e poupana e na
escolha das aplicaes financeiras. A ampliao da longevidade repercute na composio e na
dimenso dos gastos do indivduo aps a aposentadoria, considerando a preocupao com o
bem-estar na terceira idade.
No campo de Sade Pblica, tratamentos intensivos com tecnologia melhoram as
condies de sobrevivncia a doenas tpicas do envelhecimento. O incremento nos gastos pode
impor necessidade de se dispor da poupana acumulada, o que fragilizaria a situao financeira
individual, podendo conduzir a movimento de reduo do valor de ativos, como imveis e aes.
A mudana na composio etria da populao, misto de mais longevidade com
menor taxa de natalidade, tambm desafia a previdncia social, pois h um nmero cada vez
menor de trabalhadores para cada aposentado. A demanda por mecanismos complementares de
aposentadoria, a fim de melhorar a qualidade de vida na terceira idade, significa mais
responsabilidade do indivduo em relao ao seu futuro, tanto ao que concerne necessidade de
acumular recursos para seu uso, quanto ao que concerne s escolhas financeiras e ao
acompanhamento da gesto de seus investimentos.
11
A educao financeira pode conscientizar os indivduos para a importncia do
planejamento financeiro, a fim de desenvolverem relao equilibrada com o dinheiro e adotarem
decises sobre finanas e consumo de boa qualidade. Ela pode, tambm, estimular a populao
de ter sua poupana.
Imersos em uma sociedade de massa e submetidos a toda a sorte de apelo do
mercado, os indivduos, premidos por uma parcela cada vez maior de gastos dedicados ao lazer,
educao e sade, vm reservando parcela menor de sua renda acumulao.
Sem ignorar que a formao de reservas pelos indivduos depende, de certa forma,
da existncia de produtos financeiros adequados ao consumidor, certo que a deciso de poupar
ou de consumir influenciada por fatores psicolgicos e culturais. Nesse sentido, ao
conscientizar os indivduos quanto aos fatores internos e externos que influenciam suas escolhas,
a educao financeira pode ajudar a equilibrar as necessidades e os desejos, submetidos aos
apelos imediatos do consumo, com os objetivos de longo prazo.
O melhor desempenho de cada cidado em sua vida financeira, por sua vez,
contribui para o bem-estar coletivo, seja porque dessa melhor qualificao resultar sistema
financeiro mais slido e eficiente, seja porque cada pessoa estar em melhores condies para
lidar com as vicissitudes e os momentos difceis da vida.
Mesmo que isso no altere, de forma relevante, o valor de poupana, cidados
com maior grau de educao financeira esto menos propensos a sustentar padres de consumo
incompatveis com sua renda. A combinao de propaganda com mais acesso ao crdito pode
resultar em gastos pessoais insustentveis, com consequncias negativas para o indivduo:
inadimplncia e superendividamento.
As dificuldades financeiras dos indivduos no afetam apenas sua famlia. Suas
consequncias so negativas tambm para a sociedade, pela perda do potencial de
desenvolvimento humano, pela sobrecarga das redes de proteo social e pelos efeitos sistmicos
12
de natureza econmica, que podem ter reflexos para a solidez e a eficincia do
sistema financeiro.
Apesar dessa importncia, o grau de educao financeira dos consumidores,
mesmo em pases desenvolvidos, baixo. Em geral, as pessoas no planejam seus gastos para
longo prazo, demoram a se preparar financeiramente para a aposentadoria, no esto plenamente
conscientes dos riscos e dos instrumentos para a sua proteo, enfrentam dificuldades ao tomar
decises quanto a crdito e investimentos e so vulnerveis a fraudes.
De forma geral, as pessoas poupam pouco por diferentes razes: falta de
informaes e conhecimentos bsicos sobre finanas, desconforto com a idia de investir,
dificuldade de abrir mo da satisfao dos desejos imediatos e problemas decorrentes de
dvidas contradas.
Alm disso, observa-se que so justamente os mais carentes que esto em situao
de mais vulnerabilidade na relao com o sistema financeiro. Como o grau de educao
financeira geralmente mais elevado quanto maior for a renda e o grau de escolaridade, as
pessoas mais pobres e sem educao formal so as mais expostas a riscos quando lidam com
produtos financeiros.
Em alguns casos, os consumidores supoem que sabem mais sobre produtos e
servios financeiros do que realmente conhecem. Em outras situaes, mesmo quando enfrentam
dificuldades para tomar decises, apoiam em opinies, em dicas de parentes ou amigos e, ainda,
em propagandas das instituies, sem anlise consciente, pautada por boas informaes.
1.2. Relao do brasileiro com o dinheiro
Para entender a relao do brasileiro com o dinheiro e a saber a aplicao
adequada dos resultados das pesquisas internacionais ao Brasil, a elaborao da Enef apoiou-se
13
em uma pesquisa sobre o grau de educao financeira da populao, cujas principais concluses
se encontram anexas a este documento.
Analisar o comportamento da populao brasileira em relao ao consumo
importante para compreender o que est sendo transmitido s novas geraes sobre dinheiro.
Possibilita, tambm, entender a real situao dos consumidores e investidores, bem como suas
necessidades de informao e de conhecimentos financeiros.
A pesquisa nacional sobre o grau de conhecimento sobre o campo financeiro da
populao brasileira, realizada pelo Instituto Data Popular para desenvolvimento da Enef, mostra
que, diferentemente do enfoque pelo qual o dinheiro se caracteriza como capital, instrumento
para aumentar o patrimnio, a populao enxerga o dinheiro como meio de pagamento, para
resolver as questes cotidianas. Ainda nesse paralelo, se para alguns especialistas investir
alocar recursos com o propsito de aumentar a capacidade produtiva da economia, para a
populao investir sinnimo de comprar bens: imveis, carros, eletroeletrnicos, educao, em
especial dos filhos, roupas e outras coisas. Excluindo juzos de valor a propsito dessas questes
(imveis e educao, por exemplo, podem ser vistos como investimentos), o fato que existe
distncia entre o entendimento desses conceitos por parte dos tcnicos e da populao, que os
enxerga sob a lgica da razo prtica e da experincia cotidiana, sem preocupao de fazer
reserva financeira.
Essa diferena de interpretao pode ser associada sociedade contempornea.
Envolta no universo em que a cultura do ter se sobressai cultura do ser, cada vez mais
difcil ter autodisciplina para poupar. Como resultado ao apelo consumista, no final do ms,
grande parte da populao no consegue fazer seu dinheiro sobrar e, consequentemente, guardar
e render, tendo dificuldades em controlar os gastos que tendem a ultrapassar o limite do seu
oramento. Portanto, vital agir para que ela saiba como lidar com o dinheiro e adquirir hbito
de poupana.
14
Com as crianas e os jovens brasileiros, a situao no diferente, chega a ser
mais preocupante. Pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, em abril de 2008, com cerca de
1.500 jovens brasileiros com idade de 16 a 25 anos, revelou que 26% se diz muito consumista, e
19% considera a moda muito importante. Quando questionados sobre seus maiores medos,
apenas 2% citou falta de dinheiro.
Nessa pesquisa, quando questionados sobre como costumam gastar seu dinheiro,
61% dos jovens entrevistados responderam que tm o hbito de gastar a maior parte com
vesturio e calados. Quase um tero (31%) gasta com alimentao, seguido de divertimento e
lazer (22%), contas e dvidas (15%) e cursos e produtos de higiene pessoal (7%, cada)
6
.
O grupo de crianas entre 13 e 15 anos da classe C pesquisado na fase qualitativa
do estudo desenvolvido pelo Instituto Data Popular mostrou que elas aprendem a lidar com
dinheiro com exemplos de erros e acertos, sejam prprios, de seus pais ou de amigos. Assim,
muitas vezes alguns conceitos errneos acabam sendo transmitidos nos locais em que convivem,
principalmente em casa.
A pesquisa revelou ainda que a noo de dinheiro entra na vida das crianas a
partir dos cinco anos, quando elas tem o primeiro contato com o dinheiro, por meio de gastos
superficiais e pequenas doaes dos pais. Quando atingem os nove anos, muitas delas comeam
a receber mesada, o que invariavelmente desperta interesse em lidar com dinheiro, utilizado para
gastos ligados a entretenimento e lazer. Outros gastos, como vesturio, celular, viagens e
presentes, so negociados com os pais, para que eles sejam os financiadores dessas despesas, que
normalmente demandam quantias mais elevadas.
Os itens de compra mencionados nos dois estudos refletem que as crianas e os
jovens respondem aos apelos do consumo, e isso impacta no seu comportamento. A forma de
pagamento escolhida est relacionada ao valor. Assim, quanto mais caro o bem, maior o nmero
6
A metodologia utilizada para essa questo foi de respostas espontneas e mltiplas.
15
de parcelas, pois, de acordo com a viso das crianas e dos jovens, o valor parcelado, apesar de
mais caro, no compromete toda a mesada.
Observa-se, nesse ponto, a importncia em transmitir conceitos bsicos de
educao financeira para que elas tenham conscincia sobre juros, vantagens e desvantagens do
parcelamento, noo do dinheiro no tempo e possam avaliar a relao custo-benefcio de se
adquirir determinado bem a vista ou a prazo.
As facilidades de crdito e a preferncia pela antecipao do consumo formam um
casamento perfeito para gasto sem planejamento. No entanto, quando questionadas sobre a
situao em que fariam emprstimo, as crianas pesquisadas no estudo desenvolvido pelo Data
Popular responderam que o fariam para compra de algo de extrema necessidade, para a qual
levariam muito tempo para juntar a quantia. Por exemplo, uma casa. Isso mostra que a percepo
de que o crdito deve ser utilizado em ocasies especficas, de certa forma, j faz parte do
raciocnio das crianas. Por outro lado, consideram o parcelamento e o auxlio dos pais como
opes para comprar um bem que querem muito.
Com base nessas constataes, possvel concluir que saber o que correto no
suficiente, preciso desenvolver autodisciplina e orientar o julgamento do senso de urgncia em
crianas e jovens, alm de levar at eles os conceitos de Educao Financeira.
1.3. Competncia para educao financeira no Brasil
Diversas e sobrepostas so as responsabilidades quanto ao desenvolvimento da
educao financeira, considerando a organizao do Estado brasileiro e a natureza do tema, que
tangencia a ordem econmica e financeira, de um lado, e a ordem social, de outro.
No Brasil, competncia privativa da Unio a fiscalizao e a normatizao das
operaes de natureza financeira, como as de crdito, cmbio, capitalizao, seguros e
previdncia complementar. Essas competncias so exercidas por mais de um rgo, como se
16
depreende do quadro a seguir, que explicita, de forma simplificada e em linhas gerais, a
organizao do sistema financeiro nacional.
rgos
normativos
Entidades
supervisoras*
Operadores
Conselho
Monetrio
Nacional CMN
Banco Central do
Brasil BCB
Instituies
financeiras
captadoras
de
depsitos
a vista
Demais
instituies
financeiras
Outros intermedirios financeiros e
administradores de recursos de terceiros e
prestadores de servio
Bancos de
cmbio
Comisso de
Valores
Mobilirios
CVM
Bolsas (de
valores,
mercado-
rias e
futuros)
Entidades
administra-
doras de
mercados de
balco
Conselho Nacional
de Seguros
Privados CNSP
Superintendncia
de Seguros
Privados Susep
**
Ressegura-
dores
Sociedades
seguradoras
Sociedades
de
capitaliza-
o
Entidades
abertas de
previdncia
complementar
Corretores
habilita-
dos
Conselho de
Gesto da
Previdncia
Complementar
CGPC
Superintendncia
Nacional de
Previdncia
Complementar
PREVIC **
Entidades fechadas de previdncia complementar
(fundos de penso)
* Alguns rgos supervisores tambm possuem competncias normativas prprias em temas especficos de sua
competncia.
** Os mercados de seguros, capitalizao e previdncia complementar aberta e fechada esto sujeitas a regras
especficas do CMN.
O domnio de conceitos e habilidades para que o indivduo realize boas escolhas
financeiras interesse de todos os rgos normatizadores e supervisores do sistema financeiro,
em cada mercado sob sua superviso. Ocorre que as decises de consumo e poupana,
investimento e proteo contra riscos (de vida, de enfermidades, de bens etc.) so adotadas
considerando opes disponveis em diversos mercados, as quais so, muitas vezes, oferecidas
de forma simultnea por um mesmo canal de distribuio de produtos financeiros.
Ao cidado que se dirige a uma instituio financeira, so oferecidos,
simultaneamente, produtos financeiros caderneta de poupana, Certificado de Depsito
Bancrio (CDB), cotas de fundo de investimento, Plano Gerador de Benefcio Livre (PGBL),
17
Seguro de Vida Gerador de Benefcios Livres (VGBL) e outros que so supervisionados por
diferentes rgos governamentais, sendo do interesse de todos esses supervisores que o
consumidor ou investidor esteja capacitado para tomar decises conscientes e que esteja bem
informado. Ao mesmo tempo, importante que conhea os direitos assegurados em cada norma
regulamentadora e que saiba a qual rgo recorrer quando enfrentar problemas.
O interesse do governo na educao financeira no se esgota no mbito dos
rgos reguladores e supervisores do sistema financeiro. A formao de reservas para
aposentadoria, no regime de previdncia privada, de carter facultativo e complementar, cada
vez mais relevante, contribuindo para elevao da taxa de poupana brasileira e, por conseguinte,
para expanso do investimento. Ela no elimina, no entanto, a importncia do regime geral da
previdncia social, de filiao obrigatria, e da adequada orientao da populao, especialmente
da de mais baixa renda, para os benefcios e os seus direitos como filiados a esse
sistema pblico.
Por outro lado, a educao financeira impacta as decises de consumo que devem
considerar a dimenso socioambiental. Consumir de forma consciente, com economia de
recursos ambientais, pode trazer benefcios financeiros imediatos pela reduo de despesas, ao
mesmo tempo em que contribui para preservao do meio ambiente.
Tambm interesse do Estado que o consumidor conhea seus direitos e as
formas de seu exerccio, seja ao lidar diretamente com instituies financeiras, seja ao adquirir
um bem de consumo que possua, atrelado ou embutido, a concesso de crdito ou a contratao
de seguro, como a garantia estendida. Alm disso, as situaes extremas de endividamento
(superendividamento) so objeto de preocupao dos rgos de defesa do consumidor.
Melhor compreenso da ordem econmica e do seu funcionamento contribui para
percepo da importncia das polticas macroeconmicas e do cumprimento das obrigaes
tributrias e da melhor gesto dos recursos pblicos.
18
A Educao Financeira, matria restrita ao campo das finanas, ganha espao
institucional, afirmando-se como integrante da rea de Educao. Dessa forma, qualifica-se
como direito de todos, dever do Estado e da famlia e deve ser promovida com colaborao da
sociedade (art. 205 da Constituio Federal de 1988), de um lado, e dos diferentes entes da
Federao, de outro. A Constituio exige que a Unio, os estados, o Distrito Federal e os
municpios organizem os diferentes sistemas de ensino em regime de colaborao (art. 211 da
Constituio Federal de 1988).
Portanto, indispensvel a participao ativa dos responsveis pela definio das
polticas pblicas na rea de Educao, bem como de seus executores, pois a educao financeira
deve comear na escola regular, conforme recomendam as referncias internacionais, em
especial, a Organizao para Cooperao e Desenvolvimento Econmico (OCDE)
(Recommendation on Principles and Good Practices for Financial Education and Awareness).
Alm disso, determinados grupos de adultos sero formados de maneira mais efetiva, se as
diferentes abordagens observarem orientao pedaggica formulada por esses responsveis.
necessrio integrao dos contedos. H conhecimentos de cada mercado em
relao aos quais os cidados recebem orientaes especficas de cada rgo regulador. H,
nesse caso, segmentao vertical, em que a entidade ou rgo regulador estabelece, com base nas
leis especficas de cada setor, as regras aplicveis s relaes de consumo, investimento, crdito,
seguro, capitalizao e previdncia.
De outro lado, h temas que perpassam, de forma horizontal, as competncias dos
rgos reguladores que integram o Coremec. O desenvolvimento de habilidades bsicas para
entender e lidar com as finanas pessoais e com os produtos financeiros disponveis repercute
nos mercados do sistema financeiro. Tais temas, considerados temas transversais, so do
interesse de todos os reguladores, uma vez que impactam diferentes setores e no so exclusivos
de determinado rgo ou entidade da administrao pblica.
19
Em relao a certos produtos, especialmente os mais complexos, a falta de
conhecimentos bsicos reduz a efetividade das aes governamentais para informar
adequadamente o cidado a respeito dos seus riscos e caractersticas. Nesse cenrio, foroso
alargar o campo tradicional de atuao, inicialmente centrado em determinado mercado, como o
de previdncia complementar e o de capitais, para abordar temas de finanas pessoais. Um
exemplo o desenvolvimento das habilidades matemticas necessrias realizao de clculos e
comparao entre taxas de juros, prmios, rentabilidades, taxas de administrao e outros, que
beneficiam a tomada de deciso em qualquer segmento do sistema financeiro.
Outra abordagem deve considerar os fatores psicolgicos que influenciam as
escolhas quanto a finanas e a consumo, bem como o estmulo ao desenvolvimento de
comportamentos que contribuam para emancipao do indivduo, como planejamento financeiro.
1.4. Estratgia Nacional de Educao Financeira
As transformaes sociais, econmicas e demogrficas experimentadas pelo
Brasil requerem resposta da sociedade ao baixo grau de educao financeira da populao. O
desconhecimento nesse campo no exclusivamente brasileiro, sendo problema apontado, de
forma unnime, por pesquisas realizadas em diversos pases, muitos dos quais passaram a
desenvolver polticas nacionais que integram projetos educacionais j existentes e propem
novas aes, at mesmo com atuao nas escolas. Levantamento realizado das experincias
internacionais similares, mais relevantes, encontra-se anexo a este documento.
A Enef incorpora a importncia crescente da educao financeira no contexto
atual do Brasil. Prope, assim, estabelecer poltica de Estado, de carter permanente, com
necessidade de ao conjunta, pblica e privada, por meio de gesto centralizada e
execuo descentralizada.
20
A centralizao visa a assegurar coerncia metodolgica entre os programas e
aes, evitando o uso da educao financeira como ferramenta de marketing ou para venda
disfarada de produtos e servios financeiros. A descentralizao das atividades e projetos, por
outro lado, busca dar efetividade Enef, considerando as dimenses continentais do territrio e a
existncia de diferentes esferas de governo (Unio, estados, Distrito Federal e municpios).
O carter pblico dessa poltica no objetiva o imediato crescimento de mercados,
para o que j existem aes de marketing promovidas pelos seus participantes. Habilitar o
cidado a fazer escolhas consciente, com boas informaes, pode, na verdade, resultar em
mudanas na composio atual dos produtos e servios financeiros oferecidos, com adoo de
novos instrumentos e extino de outros.
Desse modo, essa poltica pblica visa a alcanar os seguintes objetivos:
- promover e fomentar a cultura de educao financeira no pas;
- ampliar a compreenso do cidado para efetuar escolhas conscientes relativas
administrao de seus recursos; e
- contribuir para eficincia e solidez dos mercados financeiro, de capitais, de seguros, de
previdncia e de capitalizao.
Nesse sentido, adota como referncia o conceito de Educao Financeira
desenvolvido pela OCDE, adaptado realidade nacional: a Educao Financeira o processo
mediante o qual os indivduos e as sociedades melhoram sua compreenso dos conceitos e dos
produtos financeiros, de maneira que, com informao, formao e orientao claras, adquiram
os valores e as competncias necessrios para se tornarem conscientes das oportunidades e dos
riscos neles envolvidos e, ento, faam escolhas bem informados, saibam onde procurar ajuda,
adotem outras aes que melhorem o seu bem-estar, contribuindo, assim, de modo consistente
para formao de indivduos e sociedades responsveis, comprometidos com o futuro.
21
Essa poltica contempla apenas aes de interesse pblico, ainda que
implementadas pela iniciativa privada, desde que tenham carter no comercial e que no se
dediquem a recomendar determinados produtos ou servios financeiros. O contedo deve ser
imparcial e tcnico, sem vis ideolgico, religioso ou de outra natureza.
Entende-se que essa orientao no impedir a realizao de parcerias bem
sucedidas com o setor privado, inspiradas pelo interesse pblico. A experincia de elaborao do
documento da Enef, que ora se apresenta, envolveu a construo de grande aliana pela educao
financeira, de forma participativa e inclusiva, ouvindo-se diferentes setores da sociedade
e do mercado.
Tem-se, na verdade, que o desenvolvimento de novas parcerias, alm daquelas
que resultaram neste documento, no apenas uma possibilidade terica. Ainda durante a
elaborao da Enef, foram inventariadas diversas aes de educao financeira, informadas
como de natureza no onerosa e de carter no comercial, por meio de formulrio especfico,
disponvel no site da Enef (<www.vidaedinheiro.gov.br>).
As iniciativas identificadas no inventrio, comentadas em documento anexo,
provavelmente, no representam a totalidade de aes existentes no Brasil, pois no so muito
numerosas, se se considera o tamanho do pas e o desenvolvimento do seu sistema financeiro. O
conjunto de projetos educacionais inventariados revela, no entanto, que a cooperao nesse
campo pode ainda ser consideravelmente ampliada, se no induzida, sob orientao e liderana
do Estado.
22
SEO 2 CENRIOS E DESAFIOS PARA A EDUCAO FINANCEIRA
2.1. Planejamento financeiro
O planejamento financeiro pessoal o processo pelo qual o indivduo desenvolve
estratgia de decises de consumo, poupana, investimento e proteo contra riscos, que
aumenta a probabilidade de dispor dos recursos financeiros necessrios ao financiamento de suas
necessidades e realizao de seus objetivos de vida. No mbito familiar, envolve o oramento
domstico
7
, que abrange anlise de recursos e gastos correntes e futuros; definio de metas e
objetivos de curto, mdio e longo prazos; tomada de decises quanto a gastos e investimentos;
avaliao da execuo do plano; e eventual adoo de medidas corretivas.
Esse planejamento analisa a renda e as despesas do indivduo e da famlia,
contemplando as decises de consumo, poupana, endividamento, contratao de seguros, entre
outros itens.
Observando conscientemente a situao das finanas pessoais e familiares,
possvel identificar se h supervit (receitas maiores do que despesas) ou dfice (despesas
maiores do que receitas) financeiro e verificar, ento, quais as decises mais adequadas em cada
caso. A viso realista das condies financeiras facilita a tomada de decises, tanto no que se
refere a poupar quanto a reduzir despesas, mudar hbitos de consumo ou recorrer ao crdito.
A capacidade para realizar e implementar esse planejamento, que envolve
decises de poupana e consumo, tem estreita relao com o grau de educao financeira
individual. Mesmo escolhas realizadas sem programao e consideradas eficazes em
determinado momento podem no ser efetivas em longo prazo, se no estiverem encadeadas em
um plano lgico.
7
Entende-se por controle do oramento domstico, neste documento, a atividade de levantamento, planejamento e
acompanhamento dos gastos pessoais ou familiares.
23
O modo como as famlias dividem a renda entre consumo e poupana afeta seu
bem-estar econmico, limitando ou ampliando a capacidade de consumo. fundamental
perceber a relao entre as escolhas atuais e a perspectiva e oportunidades futuras, de forma que
se atinja equilbrio financeiro em todas as fases da vida. Ao poupar durante a fase produtiva, o
indivduo procura acumular reservas financeiras para fazer frente a situaes crticas, adquirir
bens de maior valor e garantir conforto na aposentadoria. Preparar-se financeiramente para o
futuro, em qualquer plano de renda familiar, exige autocontrole das emoes, evitando atitudes
inconsistentes com os objetivos pessoais de longo prazo.
Sob influncia de fatores externos e psicolgicos, pode ser difcil para o indivduo
distinguir necessidades de desejos, bem como estimar as consequncias, em longo prazo, das
decises tomadas no presente. A propaganda, por exemplo, alm de fornecer informaes sobre
qualidade, disponibilidade e caractersticas de produtos, pode conter mensagens que influenciam
sentimentos e pensamentos, atingindo a capacidade de perceber e de avaliar, etapas precedentes
ao ato de decidir.
Decises no planejadas de consumo e de poupana contribuem para insegurana
financeira do cidado, com possveis consequncias sociais e econmicas em longo prazo. A
falta de planejamento para lidar com necessidades e situaes futuras, previsveis ou no, pode
estabelecer situaes de estresse que iro repercutir no relacionamento familiar e profissional,
reduzindo a produtividade e afetando o desempenho das empresas e da economia.
Deve-se ressaltar, ainda, que o efeito cumulativo de decises de consumo e
poupana contribui para determinar a produo e o emprego. Escolhas inapropriadas realizadas
em massa podem atingir a sade financeira da sociedade, comprometendo a estabilidade e o
crescimento econmicos.
24
Para ilustrar, cita-se o comportamento coletivo de endividamento dos
consumidores norte-americanos, apoiado em garantias imobilirias, que contribuiu para gerar
grave crise de confiana no sistema financeiro, com repercusses internacionais.
2.1.1. Cenrio
Apesar da importncia de planejar e administrar adequadamente as decises de
consumir e poupar, a maioria das pesquisas realizadas com a populao evidenciam existncia de
diversos fatores que interferem na capacidade de administrar o dia a dia das finanas pessoais e
de lidar, ao mesmo tempo, com objetivos de longo prazo. A importncia de controlar gastos e de
poupar para o futuro geralmente reconhecida, mas, na prtica, enfrenta obstculos econmicos,
culturais e, at, psicolgicos.
No Brasil, uma das causas citadas a informalidade do mercado de trabalho, pois,
quando a renda oscilante no tempo, a incerteza e a imprevisibilidade so mais intensas,
dificultando a realizao de planejamento de longo prazo. Em 2007, segundo a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domiclios (PNAD), 20,6 milhes de pessoas empregadas no
possuam carteira de trabalho assinada, e 19 milhes trabalhavam por conta prpria, muitas em
condies precrias e instveis.
A dificuldade de pr em prtica o planejamento financeiro tambm explicada
por fatores culturais. A capacidade de poupana do cidado brasileiro diferena positiva entre o
que ele ganha e o que gasta reconhecidamente baixa, no decorrendo apenas de dificuldades
de renda, pois mesmo famlias das classes econmicas mais favorecidas (A e B) enfrentam
desequilbrios financeiros. O controle do oramento domstico, embora seja reconhecido como
importante e necessrio, ainda no muito presente nos hbitos dos indivduos e famlias. Ao
lado do desemprego, o descontrole das despesas um dos principais motivos de inadimplncia
nas operaes de crdito, o que sugere que, se a populao dispusesse de informaes e
25
conhecimento para lidar com as questes ligadas ao consumo, tal problema poderia ser
substancialmente reduzido.
Quando o desequilbrio entre receitas e despesas se instala, necessrio lidar com
a situao, recorrendo a diversos expedientes para reequilibrar necessidades e disponibilidades.
Nem sempre isso feito da forma mais adequada. As pesquisas demonstram que atrasar o
pagamento de certas despesas, como servios de utilidade pblica, recorrer a outras fontes de
recursos (familiares, amigos, financeiras ou agiotas) e reduzir despesas so as providncias
normalmente adotadas por quem se encontra em dificuldades financeiras. As formas de
equacionar a sada muitas vezes no so efetivas, podendo piorar a situao, e, quando a causa
o descontrole oramentrio, nem sempre a origem do problema enfrentada.
Melhor qualidade de informao sobre produtos financeiros pode ajudar a
comparar produtos e escolher opes menos onerosas. Quando no se capaz de compreender as
taxas de juros embutidas nas operaes de crdito, mesmo as atreladas ao financiamento de bens
de consumo durveis, o consumidor tende a enfocar o valor da prestao.
O trabalho conduzido pelo Instituto Data Popular indicou que essas inferncias,
baseadas em pesquisas anteriores, continuam vlidas no Brasil. Embora reconheam a
importncia de administrar adequadamente os recursos pessoais e familiares, os brasileiros
enfrentam dificuldades para organizar suas finanas domsticas, havendo distncia considervel
entre discurso e prtica.
Grande parte dos entrevistados (52%) classifica sua famlia como
predominantemente poupadoras, mas, apesar dessa declarao, o hbito de poupar regularmente
pouco difundido em todas as classes econmicas. O dinheiro considerado importante e
necessrio para a sobrevivncia, mas visto principalmente como meio para adquirir bens e
para consumo imediato. A maioria das famlias consegue ter algum controle nos seus gastos, no
26
dia a dia, mas enfrenta dificuldades de pensar em longo prazo. Em todas as classes predomina o
planejamento financeiro de curto prazo.
A pesquisa revelou, tambm, que a relao do brasileiro com o consumo
complexa. Consumir mais do que suprir necessidades individuais e familiares, possuindo
significados sociais: tanto smbolo de status (posio social) como de incluso social. Dessa
forma, relaciona-se com a autoestima individual e a realizao pessoal, especialmente quando o
objeto da compra direcionado para o prprio comprador.
A estrutura de gastos varia conforme a classe econmica e a idade, mas a hiptese
de poupar para atender a necessidades futuras fica, normalmente, em segundo plano. Verifica-se
que despesas com aquisio de itens de marcas melhores, de novas categorias de produtos, de
lazer, de presentes e de outros itens, geralmente, tm prioridade em relao a guardar dinheiro,
percepo que comum a todas as classes econmicas. Assim, como despesas com educao so
consideradas como investimento pessoal, h percepo de que os gastos com vesturio, por
exemplo, so tambm uma forma de investimento na imagem e, at, na possibilidade de obter
melhores condies no mercado de trabalho.
O brasileiro reconhece, tambm, o efeito das facilidades de pagamento e a
influncia das situaes tentadoras sobre a deciso de consumo. Nessa ltima circunstncia, so
enquadradas as promoes, que passam a idia de oportunidade que no pode ser perdida. Nesse
ponto, a pesquisa demonstrou que as pessoas que se dizem menos poupadoras so tambm as
que se reconhecem mais suscetveis a comprar em uma promoo considerada imperdvel.
Havendo dificuldade em economizar, h preferncia pelo pagamento parcelado,
ao invs de juntar recursos para pagar a vista. Para os entrevistados, a prestao considerada
forma de poupar, ainda que forada, havendo vantagens em consumir dessa forma. Para muitos,
a obrigao de quitar tais dvidas vista como meio para evitar outros gastos, freando o consumo
por impulso. Ao mesmo tempo, usufruir do produto enquanto se pagam as prestaes
27
percebido como prefervel opo de poupar primeiro para depois consumir, mesmo que, com
isso, evitem-se custos financeiros. A possibilidade de consumir, imediatamente, satisfaz a
necessidade de ter o produto e reduz a ansiedade que muitas vezes sentida pela frustrao de
no consumir.
Alm disso, o crdito aumenta a possibilidade de consumir, j que, com parcelas
menores, a mesma renda avaliza nmero maior de compras de bens durveis e de consumo. Deve
ser considerado, ainda, que, para muitas pessoas, o parcelamento a nica forma de conseguir
bens de valor mais elevado, e h, como j ressaltado, o medo de, ao juntar dinheiro, gastar com
coisas suprfluas ou em oportunidades consideradas irresistveis.
Tais concluses no significam que as pessoas no percebam que h relao entre
o valor das prestaes de uma compra parcelada e o tempo que ser necessrio para quit-la. Os
entrevistados tm conscincia da importncia de quitar suas dvidas o quanto antes, declarando,
em sua maioria, que preferem pagar em menos parcelas e com juros menores. Todavia, esse
discurso nem sempre seguido.
Principalmente entre os mais pobres, presta-se mais ateno ao valor das parcelas
do que aos encargos financeiros, proporo que comea a se inverter entre os mais ricos. Se
cabe no bolso, compra-se, muitas vezes independentemente do valor total do produto. Pessoas
com menos conhecimento sobre finanas tm dificuldade de compreender e comparar taxas de
juros embutidas nas prestaes de bens de consumo durveis. Por falta de informao, a deciso
fundamentada na possibilidade de arcar com a despesa, considerando a renda mensal. Por essa
razo, so os economicamente mais frgeis que esto mais vulnerveis.
A pesquisa tambm constatou que a necessidade de recorrer a emprstimos para
financiar suas despesas leva o brasileiro a ter, em algum momento da vida, problemas nessa rea.
Dos entrevistados, 54% tm ou j tiveram restrio a seu nome (nome sujo) em alguma
empresa de proteo ao crdito, como o Servio de Proteo ao Crdito (SPC). Isso ocorre mais
28
com os que atuam no mercado informal de trabalho e est presente em todas as
classes econmicas.
Essa situao, apesar de comum, no desejada, sendo considerada
constrangedora para a maioria dos entrevistados, que aplicam diversas solues quando a
enfrentam. De forma geral, problemas de crdito obrigam a mudana de hbitos, como pagar
mais a vista e frequentar locais de compra onde os critrios de aceitao sejam flexveis.
No entanto, cerca de 30% dos entrevistados declararam que mantm os hbitos de
consumo, usando, para isso, diferentes estratgias, como recorrer a amigos ou a parentes para
pedir novo emprstimo. Observou-se que 48% declararam j haver emprestado o nome para
algum. Tambm frequente a utilizao do carto de crdito de conhecidos.
A pesquisa evidenciou a popularizao dos cartes de crdito (56% dos
entrevistados), mesmo entre pessoas das classes C (59%) e D (33%). O mesmo se aplica aos
chamados cartes de loja, exclusivos de determinado varejista, detidos por 46%
dos entrevistados.
O acesso a cartes de crdito e de loja viabiliza novas estratgias para lidar com o
consumo. O levantamento demonstrou que as pessoas procuram ter mais de um carto, com
diferente data de vencimento, a fim de prolongar o prazo de pagamento da dvida sem incorrer
em juros, escolhendo o melhor dia de compra. Evidenciou, tambm, a utilizao dessa prtica
para cobrir limites entre diferentes cartes.
Apesar das facilidades promovidas pelo carto de crdito, seu uso inadequado
gera consequncias negativas. Em situaes de dificuldade, muitos (31%) fazem o pagamento
mnimo, o que permite que continuem a utilizar o carto. O nus maior com o pagamento dos
dbitos, em razo dos juros de rolagem da dvida, nem sempre percebido pelos consumidores,
mesmo entre pessoas de renda mais elevada (classes A e B).
29
Os emprstimos so comuns entre os entrevistados, sendo que 69% j pediram,
alguma vez, dinheiro emprestado a parentes (38%), bancos (33%), amigos ou vizinhos (21%),
financeiras (7%), entre outros.
A utilizao do crdito, em situao de endividamento, gera sentimentos
conflitantes. Inicialmente, produz alvio ao solucionar o problema financeiro e atender a uma
necessidade, mas depois gera preocupao com o pagamento da dvida e, muitas vezes,
frustrao, especialmente quando os recursos foram empregados para quitar outra dvida.
No que se refere ao modo como encaram a poupana, observou-se que, para
muitos brasileiros, poupar sinnimo de guardar dinheiro, no de investir. Em geral, a
preocupao principal no de aumentar o patrimnio, mas sim de dispor de reserva para lidar
com desemprego, doenas e outras necessidades imprevistas no oramento do ms. H forte
averso ao risco e preferncia pela liquidez, especialmente entre os mais pobres, alm de
preocupao de poupar para garantir o futuro dos filhos.
Observou-se que os brasileiros tm clara noo da importncia do dinheiro e da
relao saudvel com ele. No entanto, por falta de informao ou orientao, nem sempre
conseguem desenvolver relao consciente com as finanas, subsistindo, muitas vezes, esquemas
pouco eficazes para poupar e consumir. comum que a mesma pessoa reserve recursos para o
futuro, poupando, ao mesmo tempo em que mantm dvidas a custos maiores do que a
rentabilidade de seus investimentos.
2.1.2. Desafios para a educao financeira
A OCDE, ao fixar princpios para a implementao de programas de Educao
Financeira, sem deixar de reconhecer a necessidade de adaptao s prioridades e realidade de
cada pas, sugere inserir em seu contedo os aspectos bsicos de planejamento financeiro, como
30
o controle do oramento domstico, que deve contemplar levantamento, planejamento e
acompanhamento dos gastos pessoais ou familiares.
importante que o cidado desenvolva competncias que elevem seu grau de
informao e capacitao para realizar seu planejamento financeiro, o que envolve decises
relativas a consumo, a poupana e a utilizao do crdito.
Embora o planejamento financeiro seja considerado importante, nem sempre os
cidados percebem claramente seu significado. Mesmo quando se conscientizam da necessidade
de planejar, muitas vezes no conseguem traduzir em aes concretas, devido a questes
subjetivas que afetam a racionalidade, quais sejam:
- limitao quanto viso de cenrio e quantificao dos riscos;
- inconsistncia das aes correntes e dos objetivos de longo prazo;
- influncias culturais e psicolgicas no comportamento individual.
A tomada de deciso envolve escolha de carter intertemporal, que deve
considerar o presente, em que se deve adotar determinado comportamento, e o futuro, em que,
espera-se, os resultados desejados sejam obtidos.
Diante de duas opes, uma que exige atitude de absteno (fazer economia de
gastos) em prol de benefcio futuro (obter remunerao do capital no gasto), outra que satisfaa
desejo imediato, a despeito de comprometer objetivos futuros, o indivduo lidar no somente
com clculos objetivos e racionais, mas tambm com fatores emocionais que podem levar a erros
de percepo e de julgamento. Ante a complexidade que envolve a deciso, ela pode ser
influenciada mais por emoes e menos pela racionalidade.
H que se considerar a presena de incertezas e riscos, que dificultam a deciso de
adiar recompensa imediata. No h, portanto, respostas simples questo das escolhas
intertemporais. O aspecto puramente racional no suficiente para garantir efetividade deciso.
Assim, tais caractersticas do comportamento humano traduzem diferentes reaes, que precisam
31
ser consideradas em um programa de educao financeira. Vale ressaltar que os mecanismos
individuais de deciso nem sempre funcionam, se os cidados no forem estimulados,
conscientizados e dotados de informaes e ferramentas adequadas.
O Estado deve conscientizar a sociedade sobre a importncia do planejamento
financeiro, sem ferir liberdades individuais e, portanto, sem constranger ou impelir a adoo de
decises de consumo e de poupana. Alm de orientaes para ajudar a prevenir o dfice
financeiro, devem ser inseridas informaes sobre a existncia e a filosofia dos diferentes
cadastros restritivos e de informaes de crdito, bem como sobre estratgias para sair do
endividamento. A educao financeira deve focar nesses e em outros temas, no com o propsito
de substituir o cidado em suas decises individuais de gastos, endividamento, investimentos e
proteo contra riscos, mas sim dando a ele condies para que exera livremente seus juzos, a
fim de alcanar a realizao pessoal e familiar.
2.2.Economia
A histria demonstra que diferentes fenmenos sociais guerras, fluxos
migratrios, desenvolvimento do comrcio, revoluo industrial, evoluo cientfica e
tecnolgica esto sempre impregnados de aspectos econmicos. A Economia emerge e evolui
como cincia para ajudar a compreender, antecipar e mesmo tentar controlar esses fenmenos e
orientar os seus efeitos.
A Economia estuda como administrar recursos escassos, visando satisfao das
necessidades e ao bem-estar da sociedade. Medir a atividade econmica fundamental.
Torna-se, portanto, essencial avaliar permanentemente se est havendo reduo ou aumento da
produo, da renda e do bem-estar da populao como reflexo do comportamento da economia e
das medidas de poltica econmica.
32
Os conceitos econmicos se expressam em duas planos distintos:
microeconmico, na esfera dos consumidores e poupadores, e macroeconmico, que considera a
todo o universo da economia.
No plano microeconmico, importante para o cidado conhecer os conceitos de
formao de preos de bens e servios, bem como o funcionamento do mercado financeiro, a fim
de tomar decises consciente sobre consumo e poupana. No plano macroeconmico, relevante
que ele conhea os objetivos das polticas econmicas monetria, fiscal e cambial , como
controle da inflao, equilbrio das contas pblicas e balano de pagamentos, entendendo a
forma como tudo isso pode influenciar o seu dia a dia.
Os benefcios da estabilidade do poder de compra da moeda podem ser mais bem
avaliados por quem viveu em pocas de inflao elevada. A inflao um processo caracterizado
pela alta contnua e generalizada de preos de grande parte dos bens e servios, em um pas ou
uma regio, por determinado perodo de tempo. Por isso, essencial conscientizar,
principalmente, a populao mais jovem sobre a importncia do controle da inflao, condio
indispensvel para eficincia das decises econmicas, tomadas no s pelo governo, mas
tambm por empresrios e por indivduos ou famlias.
O consumidor deve compreender que, para controle da inflao, o Banco Central
determina a taxa bsica de juros, de forma que se compatibilize a demanda com a oferta de bens
e servios, e, assim, obtenha-se estabilidade de preos, fundamental para crescimento sustentado
da economia.
A previso sobre o comportamento dos preos estratgica para o planejamento
financeiro das empresas e dos indivduos. A inflao elevada dificulta a realizao de previses
acerca dos preos de bens e servios, podendo levar a decises equivocadas, bastante frequentes
em ambientes de instabilidade.
33
Nesse cenrio, tornam-se mais perceptveis alteraes isoladas de preos, o que
permite redirecionar as escolhas para itens mais baratos. A expectativa de estabilidade induz as
instituies financeiras a reduzirem as taxas praticadas, j que deixaro de computar o risco de
inflao em seus custos na concesso de crditos para financiamento da produo ou do
consumo, tornando mais efetivas as transaes econmicas com vistas ao fluxo circular da renda.
As transaes realizadas pelos agentes econmicos em determinada economia
podem ser internas, ou seja, ocorrerem dentro das fronteiras, ou externas, realizadas entre os
residentes de um pas e os residentes do resto do mundo.
Das transaes externas, deriva um conjunto de direitos e obrigaes decorrente
das importaes e exportaes de bens e servios e das entradas e sadas de capitais, que
necessitam de registro para possibilitar a compilao de dados e informaes que auxiliam na
tomada de decises da poltica macroeconmica.
Para que as trocas de bens e servios sejam realizadas entre pases, preciso
converter a moeda de um pas na moeda do outro, de forma que se possibilite a liquidao
internacional do negcio entre o pas do provedor do bem ou servio e o pas do comprador. Essa
troca feita pelas instituies financeiras autorizadas a operar em cmbio. Assim como na
determinao dos demais preos da economia, os preos relativos entre as diferentes moedas e o
real (taxas de cmbio) tambm so definidos pelo mercado (oferta e demanda) no regime de
cmbio flutuante.
Melhor entendimento dessas e de outras questes econmicas pode proporcionar
ao cidado condies de compreender as razes que levam ao aumento ou reduo dos salrios,
da oferta de emprego, dos preos de bens e servios e das taxas de juros e de cmbio,
favorecendo sua integrao social e econmica, por meio de atitudes positivas e conscientes.
34
2.2.1. Cenrio
Desde 1994, com adoo do Plano Real, a economia brasileira vivencia um
ambiente de estabilidade macroeconmica, com a inflao sob controle.
Em 1999, foi adotado o Regime de Metas para a Inflao, pelo qual o governo
estabelece a meta anual de inflao, a ser cumprida pelo Banco Central. O Comit de Poltica
Monetria (Copom), composto pela Diretoria Colegiada do Banco Central, determina a taxa
bsica de juros da economia (taxa Selic) de forma que se atinja a meta anual estabelecida. Esse
modelo de poltica macroeconmica tem-se mostrado eficaz, uma vez que conserva a inflao
sob controle nos ltimos anos.
Tambm em 1999, foi adotado o Regime de Cmbio Flutuante, que consiste em
deixar a taxa de cmbio ser determinada pela oferta e pela procura, sem interveno do Banco
Central, para estabelecer qualquer meta para o valor da moeda nacional.
Em 2001, foi editada a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), importante
arcabouo para uma poltica fiscal focada no equilbrio das contas pblicas nas esferas
municipal, estadual e federal. A LRF instituiu regime fiscal-disciplinar, com base em
mecanismos de controle do endividamento e das despesas pblicas, assim como em normas
coercitivas e de correo dos desvios fiscais porventura verificados. Trata-se de um cdigo de
conduta para os administradores pblicos do pas, que abrange os poderes Executivo, Legislativo
e Judicirio nas trs esferas de governo.
Assim, a LRF estabeleceu limites para despesas com pessoal e para a dvida
pblica e fixou metas para controle das receitas e despesas, dispondo que nenhum governante
poder estabelecer despesa continuada que ultrapasse dois anos, sem indicar sua fonte de receita
ou deduzir de outras despesas j existentes. Essa poltica tem proporcionado obteno de
supervits primrios e a consequente reduo da relao dvida pblica/PIB, elevando a
confiana dos credores internos e externos.
35
Como resultado dessas polticas macroeconmicas, a economia brasileira
apresentou, durante mais de uma dcada, taxas estveis de crescimento econmico e equilbrio
das contas externas, culminando no reconhecimento internacional ao almejado grau de
investimento. Compreender essas questes e as interaes entre elas, bem como o papel e a
responsabilidade do BCB, fundamental e torna-se particularmente relevante quando se fala de
formadores de opinio ou de outros agentes ou rgos que atuam de forma complementar na
formulao dessas polticas, permitindo ao bem coordenada e efetiva.
A obteno e manuteno do grau de investimento (investment grade), que um
selo de garantia dado pelas agncias de classificao de riscos de crdito aos governos e
empresas, permitir que os fluxos de investimentos estrangeiros no sofram interrupo ou
reduo, complementando a poupana domstica.
O crescimento econmico sustentado (tambm conhecido como PIB de pleno
emprego) tem como linhas mestras a obteno da taxa real de juros (taxa de juros nominal
descontada a previso da taxa de inflao), o supervit primrio das contas pblicas, estabilidade
na relao dvida pblica/PIB e as adequadas taxas de investimento e de poupana que garantam
o crescimento econmico sem presses sobre as taxas de inflao.
A insero mais expressiva do Brasil no processo de globalizao dos mercados
financeiro e produtivo poder ser alcanada de forma responsvel, utilizando-se os resultados
obtidos pela combinao harmoniosa das polticas monetria, de crdito, fiscal e cambial, que
garantiro estabilidade macroeconmica.
Desde o final de 2007, uma crise financeira internacional sem precedentes, com
origem no mercado imobilirio norte-americano, afetou a economia dos pases mais ricos, com
ameaa de riscos sistmicos em todos os mercados financeiros. A forte retrao da liquidez
provocou ambiente de recesso da atividade econmica mundial e elevado desemprego. Os
pases emergentes tambm experimentam forte contrao do nvel de renda e emprego e aumento
36
do endividamento, com dfices crescentes, no obstante haverem realizado polticas
macroeconmicas responsveis para obteno do crescimento econmico autossustentado.
No Brasil, o elevado nvel de reservas internacionais e a adoo de polticas
monetria e fiscal, que, em harmonia, possibilitaram o controle da meta de inflao (5,9%)
fixada pelo governo e a obteno de supervit primrio do governo em relao ao PIB (4,1%),
em 2008, so fatores fundamentais para que nossa economia no tenha sofrido reflexos to
profundos at o momento.
No obstante, o crescimento do PIB se desacelera fortemente como consequncia
da queda do ritmo da atividade econmica internacional e da forte reduo do ingresso de
capitais externos.
O PIB do ltimo trimestre de 2008 apresentou queda de 3,6%, em relao ao
terceiro trimestre, quebrando o ciclo expansivo de doze trimestres consecutivos. Foi a maior
queda na srie estabelecida em 1996 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica (IBGE).
Mesmo assim, o PIB cresceu 5,1% em 2008, ante 5,7%, em 2007.
As estimativas que so coletadas pelo BCB indicam crescimento do PIB prximo
a 0%, bem como cenrio de deflao para 2009, como reflexo dessa grave crise mundial.
2.2.2.Desafios para a educao financeira
O conhecimento adequado dos conceitos econmicos, do funcionamento da
economia e da forma de atuao do governo para obter estabilidade de preos e crescimento
autossustentado fundamental para que o cidado entenda as questes enfrentadas no dia a dia.
A economia, no mbito da Enef, deve ser tratada de forma que proporcione conhecimento tanto
na rea microeconmica quanto na macroeconmica.
A expectativa da conservao de economia estvel pressupe atitudes cidads, tais
como evitar consumo de certos produtos durante sua entressafra, ou buscar outros produtos
quando determinados produtos ou marcas apresentam preos ou reajustes desproporcionais nos
37
seus preos. Por outro lado, importante para o cidado saber que o mercado no
simplesmente algo abstrato. necessrio saber identificar os eventos que nele ocorrem e
compreender como as atitudes e decises de cada pessoa afetam ou so afetadas por esses
eventos. importante que o cidado entenda a diferena entre a taxa bsica de juros e as taxas de
juros cobradas pelas instituies financeiras e o que significa o chamado spread bancrio.
Alm disso, deve-se ter conscincia de que h ganhos considerveis, quando se
considera a preferncia intertemporal, ou seja, quando se adia o consumo presente em troca de
aplicao financeira ou poupana peridica como forma de ter acesso a bens de consumo em
condies mais favorveis.
O longo perodo em que o Brasil viveu sob regime inflacionrio determinou a
cultura do consumo imediato, visando evitar a deteriorao do poder de compra. Essa cultura
persiste, apesar de vivermos um perodo de razovel estabilidade h dez anos. comum o
cidado usar todo o seu salrio em gastos correntes, no reservando uma parcela para poupana.
H aqueles que se utilizam do crdito fcil para adquirir determinado produto, sob alegao de
que, ao postergar a compra, aquele produto poder encarecer, num claro exemplo da cultura
inflacionria. Deve-se enfatizar a importncia de poupar e de consumir de forma consciente.
Ser preciso proporcionar informaes para melhor entendimento sobre o
funcionamento da economia e das polticas: a defesa de sistema financeiro saudvel, a ascenso e
a manuteno do grau de investimento para o capital estrangeiro, o crescimento econmico e a
insero expressiva do pas na globalizao dos mercados financeiro e produtivo.
Compreender que fenmenos levaram presente crise econmica internacional,
como isso pode afetar o Brasil e o que pode e deve ser feito para amenizar seus efeitos so
desafios que a Educao Financeira deve enfrentar. O cidado deve-se conscientizar para que,
alm das aes de governo, perceba a importncia do seu papel, da sua colaborao e do seu
esforo para que o pas retome rapidamente a sua trajetria de crescimento almejada.
38
fundamental que o cidado seja continuamente conscientizado sobre o papel que o BCB exerce
para que haja estabilidade econmica, com vistas a que o pas atinja o desenvolvimento
sustentado por meio do controle da inflao.
39
2.3.Servios financeiros
A atividade financeira fundamental para alcance e manuteno do nvel de
produtividade observado nas economias modernas, possibilitando mais eficincia e melhor
alocao dos recursos de pessoas fsicas, empresas, entidades civis e governos. Os servios
financeiros so extremamente variados, e a legislao brasileira, seguindo a prtica internacional,
prev especializao dos tipos de intermedirios financeiros em determinadas operaes. Essa
prtica, apesar de ser vantajosa para o segmento mais bem informado da sociedade, costuma
dificultar o entendimento da populao sobre funes e atividades especficas de
cada instituio.
Os bancos constituem o segmento mais tradicional do Sistema Financeiro
Nacional (SFN), visto prestarem os servios mais demandados pela sociedade, especialmente os
de depsitos a vista, emisso de cheques, oferta de crditos e financiamentos, pagamentos,
recebimentos e transferncias financeiras. Embora alguns bancos, conhecidos como bancos
mltiplos, possam realizar a maioria das operaes permitidas a instituies financeiras, o
conhecimento mnimo da estrutura e do funcionamento do conjunto do sistema financeiro
desejvel, seja para ampliar a concorrncia, seja para facilitar o acesso do pblico aos rgos
supervisores em caso de reclamaes, ou, no menos importante, para evitar a propagao de
preconceitos que turvam o debate pblico sobre alguns temas, como poltica monetria, juros e
dvida pblica.
Outros intermedirios financeiros, como as cooperativas de crdito, as sociedades
de crdito ao microempreendedor e as administradoras de consrcios, embora potencialmente
sejam de grande relevncia para propiciar acesso a servios financeiros populao
desbancarizada e de intensificar a concorrncia, so pouco conhecidos.
40
2.3.1. Cenrio
Pesquisa recente da Federao Latino-Americana de Bancos revela que o acesso a
servios bancrios est restrito a 43% da populao adulta do pas.
O funcionamento do sistema financeiro , de maneira geral, pouco reconhecido.
Os meios de comunicao tendem a reproduzir, muitas vezes de forma inadequada, informaes
sobre intermediao financeira. Em particular, a cobrana de juros pelo uso do dinheiro, prtica
anloga do pagamento de aluguel pelo uso de um bem, costuma ser mal compreendida.
Evidentemente, temas especficos, como a funo e os servios providos pelos diferentes tipos de
intermedirios financeiros, so de conhecimento apenas da minoria das pessoas.
O incio do relacionamento com uma instituio financeira por meio de abertura
de conta de depsitos evolui, normalmente, para prestao de outros servios, tais como
pagamentos por dbitos automticos, contratao de cheque especial, microcrdito e outros
emprstimos, financiamentos e seguros, bem como aplicaes financeiras. Tais servios, assim
como as contas de depsitos, so prestados em conformidade com complexa legislao, que
abrange normas regulatrias, sendo necessrio que o cliente conhea os aspectos mais
importantes dessas regras, alm da dinmica econmico-financeira da operao.
relevante observar que o acesso a servios financeiros tem crescido
significativamente nos ltimos anos, particularmente no que se refere concesso de crdito, na
qual se destaca a modalidade do crdito consignado. O volume de crdito concedido ao setor
privado cresce ano a ano, demonstrando o desenvolvimento do mercado financeiro. As contas de
depsito a vista movimentveis por cheques e por cartes de dbito constituem um dos servios
mais demandados, pois se tornaram indispensveis para realizar com segurana a guarda, a
aplicao e a movimentao de recursos financeiros.
A atual regulamentao financeira permite s instituies financeiras contratarem
servios de atendimento ao pblico, prestados por outras empresas, chamadas de
41
correspondentes, as quais atuam em nome e por conta da instituio contratante, oferecendo
produtos e servios de forma semelhante que oferece uma agncia da instituio contratante.
Desse modo, todo o pas passou a contar com atendimento bancrio, servio que no era
proporcionado a, aproximadamente, 1.700 municpios.
Tambm relevante o rpido crescimento da rede de correspondentes no pas, que
j ultrapassa cinco vezes o nmero de agncias bancrias. Embora a maioria dos usurios
de correspondentes hoje os utilize apenas para pagamento de contas, trata-se de plataforma
muito promissora para prestao de servios bancrios bsicos, principalmente em um pas
to vasto, com muitos municpios sem agncia bancria. A populao j se habituou a pagar
suas contas, receber pagamentos e efetuar depsitos por meio dos correspondentes em
todo o pas. No entanto, a par dos benefcios obtidos, importante que o cidado tenha noo
dos riscos inerentes.
Menciona-se, ainda, a generalizao do uso de cartes de crdito e de dbito, bem
como a introduo dos servios eletrnicos e-banking e mobile banking, apesar de estes serem
restritos aos segmentos de mais alta renda. Todas essas inovaes geram mais necessidade de
informao, especialmente em relao a procedimentos de segurana.
Os bancos esto autorizados a oferecer diferentes tipos de operaes de crdito ao
pblico, inclusive consrcio, forma peculiar de autofinanciamento. H, tambm, instituies
pertencentes ou no a grandes conglomerados, voltadas a determinado tipo de operao, como
so as financeiras, as empresas de arrendamento mercantil ou leasing, as companhias
hipotecrias, as associaes de poupana e emprstimo e as administradoras de consrcios.
As cooperativas de crdito representam caso especial no cenrio da prestao dos
mesmos servios, por sua peculiar natureza societria e pela restrio de servios de depsitos e
de crdito aos associados, sendo facultada a prestao de outros servios a terceiros. Cerca de
dois milhes de pessoas no Brasil so associadas dessas cooperativas, que respondem por
42
aproximadamente 2% do movimento de depsitos e de crditos do SFN. Trata-se de ndice
baixo, se comparado ao de pases desenvolvidos, como os Estados Unidos ou, particularmente, a
Alemanha, cujo setor cooperativo de crdito responde por aproximadamente 25% do movimento
do setor financeiro, e cujos associados representam ndice semelhante em relao populao
total do pas.
No que se refere s polticas pblicas relativas ao setor financeiro, destacam-se as
iniciativas do CMN para incrementar a concorrncia entre instituies financeiras,
particularmente com a portabilidade de cadastro, de operaes de crdito e de recebimento de
salrios. Outras medidas contribuem para aumentar a transparncia na prestao e cobrana de
servios bancrios. Entre elas, cita-se a recente exigncia de informao e divulgao do Custo
Efetivo Total (CET), correspondente a todos os encargos e despesas de operaes de crdito, a
instituio de tabela padronizada de operaes com clientes pessoas fsicas e a regulamentao
da liquidao antecipada de contratos de concesso de crdito e de arrendamento
mercantil financeiro.
Em relao aos bancos, observa-se mais desconhecimento da populao sobre os
aspectos jurdicos da realizao de negcios, prevalecendo a expectativa de que as instituies
que deveriam cuidar de tudo. o caso de correntistas que no se preocupam em encerrar
formalmente suas contas, acumulando dbitos relativos a tarifas de manuteno de contas.
Portanto, interessante que se faa ampla divulgao dos direitos e das
obrigaes daqueles que participam do sistema bancrio, como o regime tarifrio, as
caractersticas legais do cheque (cruzados, sustados, pr-datados e outros), os cuidados na sua
utilizao, bem como o uso de terminais eletrnicos.
preciso que esse conhecimento seja suficiente para que o cliente avalie os riscos
envolvidos nas operaes, assim como a adequao s suas necessidades e possibilidades. Em
cada tipo de operao, o cidado deve dispor de informaes sobre a remunerao a ser paga ou
43
recebida, as multas e as penalidades derivadas de inadimplncia, a influncia da variao das
taxas de juros, de cmbio e de inflao, os riscos incidentes e outras, com vistas a evitar
contratempos. Os prejuzos decorrentes de operaes mal planejadas tm consequncias diretas
para o cliente e afetam, no primeiro momento, o banco, no caso de inadimplncia de credores.
Entretanto, a longo prazo, iro se refletir nas taxas de juros e nas tarifas da instituio,
suportadas, no fim das contas, pelo conjunto dos clientes do sistema financeiro.
Da mesma forma, muitos ignoram o papel do Fundo Garantidor de Crditos
(FGC), constitudo em 1996, na forma de entidade privada administrada, pelas instituies
financeiras, as quais devem dela participar, obrigatoriamente, recolhendo as contribuies
estipuladas pela norma regulatria, com base no volume de recursos captados nas modalidades
de aplicaes protegidas pelo fundo. Torna-se fundamental para os poupadores conhecer esses
tipos de aplicao, os limites de cobertura estipulados para cada aplicao e para o mesmo
aplicador em diferentes instituies e a forma de acionamento dessa garantia em caso de quebra
da instituio financeira.
A desinformao abrange os procedimentos institudos pela autoridade para
atender exatamente s necessidades especficas do pblico, tais como a portabilidade cadastral
entre instituies financeiras; as chamadas contas-salrio abertas pela entidade empregadora com
finalidade exclusiva de crdito de remuneraes; as contas simplificadas no movimentveis por
cheques; as contas abertas por emigrantes no exterior, mantidas em bancos no Brasil; e a
abertura de contas de depsitos por meios remotos e por representantes do banco.
2.3.2. Desafios para a educao financeira
Os distintos graus de conhecimento, interesse e intensidade de uso do sistema
financeiro recomendam estabelecer estratificao do pblico-alvo da ao da Enef para os fins de
conhecimento mnimo deste tpico, distinguindo, por exemplo, aqueles sem acesso algum a
44
servios financeiros, o segmento com acesso a servios bsicos e aqueles usurios ou potenciais
usurios de maior gama de servios e formadores de opinio, aos quais interessaria aprofundar o
estudo sobre o tema.
Tratando-se dos dois primeiros segmentos, a Enef deve educar o cidado no que
diz respeito a assuntos especficos do SFN e de interesse direto dos pblicos-alvo. Assim, por
exemplo, em uma apresentao sobre financiamento imobilirio, pode ser mostrada a cadeia de
instituies e operaes que compem esse sistema, procedendo-se analogamente ao serem
abordados temas como uso do cheque, funcionamento da conta de depsitos a vista e da conta de
poupana, cartes de crdito, financiamentos e outros tpicos de interesse. Em cada exposio,
destinada s instituies ou ao pblico ouvinte, podem ser introduzidas informaes de carter
geral sobre funcionamento em grande escala do SFN, valendo-se das mesmas ideias e dos
mesmos fatos integrantes do assunto especfico, objeto do evento.
Para o pblico desbancarizado, o foco deve ser nos principais servios disponveis
para eles, explicados de maneira simples, com indicao de onde e como obt-los, quais as
vantagens, os custos, os riscos e os cuidados que devem ser tomados.
No que diz respeito aos correspondentes no pas, devem ser desenvolvidas aes
que orientem o pblico, para que seja capaz de distinguir entre um correspondente e uma agncia
da prpria instituio financeira, responsvel pelas transaes realizadas; para solicitar as
informaes adequadas avaliao da idoneidade de novo ponto de atendimento; para exigir a
documentao apropriada quando celebrar contratos de abertura de conta, aplicaes, ou quando
realizar pagamentos por meio de correspondentes; para recusar propostas de servios no
passveis de serem prestados por meio dos correspondentes, bem como a cobrana de tarifas por
parte destes, vedada pela regulamentao.
Em relao ao pblico mais qualificado, parece adequado apresentar as funes
clssicas do sistema financeiro, tais como intermediao financeira entre poupadores e
45
demandadores de recursos, servios de depsito de recursos e de guarda de valores, operao do
sistema de pagamentos e recebimentos, distribuio de meios de pagamento em espcie,
operaes que envolvem entes e moeda estrangeiros, seu papel no financiamento da
dvida pblica.
A Educao Financeira deve englobar, de maneira diferenciada conforme o grau
de conhecimento e a necessidade do pblico, a avaliao da qualidade da instituio ofertante de
produtos de crdito ou de investimento e dos contornos jurdico-contratuais que lhe so
propostos no negcio, fatores to significativos quanto os de natureza puramente financeira. So
altos os riscos envolvidos na negociao de produtos financeiros com empresas de origem
desconhecida ou de idoneidade duvidosa, e o cliente deve saber quais so as fontes de
informao disponveis e como recorrer a elas, para fazer a necessria avaliao.
A difuso do conhecimento do papel dos bancos e das cooperativas de crdito
poderia ser inserida, nas exposies centradas em temas de interesse direto do pblico visado,
fazendo-se abordagem geral dos diversos servios prestados por essas instituies, ligando-se os
servios aos tipos de bancos e de carteiras administradas. No seria recomendado realizar
exposies que abrangessem todos os tipos de servios e de bancos existentes, mas apenas
aqueles pontos que pudessem ser ligados direta ou indiretamente ao tema principal de interesse
do pblico. As prprias instituies financeiras devem ser estimuladas a assumir suas
responsabilidades na educao financeira de seus clientes atuais e potenciais.
importante demonstrar que as cooperativas de crdito dependem da iniciativa e
do empenho constante de seus associados, tanto para sua constituio quanto para seu adequado
funcionamento e sua consolidao institucional. Diferentemente dos bancos, onde os clientes so
terceiros, alheios administrao da instituio, os associados da cooperativa so os clientes e,
ao mesmo tempo, os donos do negcio, o que abre oportunidade de acesso a servios financeiros
46
de baixo custo sempre que a sociedade seja bem administrada, o que depende, entre outros
fatores, da participao constante dos associados nas decises das assembleias.
No menos relevantes so os temas relacionados exposio a riscos e
segurana das transaes financeiras, particularmente os cuidados que os clientes devem
observar ao utilizar caixas eletrnicos e ao efetuar transaes pela internet.
2.4 Crdito e juros
Entre os diversos servios financeiros, o crdito um dos mais utilizados pelos
consumidores. Nas duas ltimas dcadas do sculo XX, houve enorme expanso do crdito para
consumo, em diferentes formas de crdito pessoal (emprstimo), financiamento de bens,
hipoteca, leasing, entre outros. O endividamento decorrente do crdito tornou-se to comum na
sociedade de consumo, que se chegou a denomin-la sociedade do endividamento. O consumo
de bens e servios, essenciais ou no, passou a ser acompanhado, quase sempre, de uma
operao de crdito.
Por outro lado, o crdito muito importante para os ciclos econmicos, pois os
agentes econmicos (famlias, empresas, governo e resto do mundo) tm a necessidade de
acess-lo por meio do sistema financeiro, para financiar consumo, produo e investimento.
Ainda que o crdito constitua recurso essencial para desenvolvimento das
modernas economias de mercado, ele pode acarretar consequncias desfavorveis para o
consumidor e para o mercado, caso sua concesso seja realizada de modo inadequado.
Os consumidores de baixa renda, normalmente, so os mais fragilizados, tendo
em vista que a necessidade financeira pode levar esses consumidores a contratarem crdito em
condies bastante desfavorveis e com altas taxas de juros. Assim, a probabilidade de
endividamento maior, e a possibilidade de pagamento das dvidas pode se tornar remota.
47
2.4.1.Cenrio
No Brasil, at pouco tempo, o volume de crdito negociado era baixo, e as taxas
de juros muito altas. A principal razo para isso era a conjuntura inflacionria e de crises
econmicas por que passava o pas, com suas consequncias negativas para a renda e o emprego,
o que gerava cenrio desfavorvel ao crdito, pois no se podia antecipar, com segurana, a
viabilidade das operaes. Outro fator que ainda ajuda a explicar a escassez de crdito e juros
altos no Brasil a inadequada proteo legal e judicial dos direitos dos credores.
Nos ltimos anos, apesar das elevadas taxas de juros, o volume de crdito tem
aumentado muito no Brasil, principalmente para financiamento do consumo das famlias. O total
dos emprstimos e dos financiamentos concedidos pelo SFN em relao ao PIB quase duplicou
entre 2002 e 2008.
Grfico 1 Evoluo percentual do total de emprstimos e financiamentos em relao ao
Produto Interno Bruto
26,4
24,7
22,0
24,0
24,5
28,1
30,7
34,2
41,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Crdito / PIB
Fonte: Banco Central do Brasil
48
O aumento no volume de crdito poderia no ser considerado muito alto ou
preocupante, comparado a outros pases, se tambm fosse elevado o financiamento para
aquisio de casa prpria. Entretanto, apesar de alguma expanso mais recente, o valor
correpondente aos financiamentos imobilirios do SFN continua sendo muito baixo
comparativamente a outros pases.
A recente e grave crise econmico-financeira mundial traz oportunidade para
expor a todos os cidados a importncia da educao financeira. Os desafios que se colocam a
todos passam pela manuteno do nvel de emprego e renda at o comportamento dos
consumidores em relao a seu endividamento, que, em algumas circunstncias, tendem ao
consumo descontrolado e adquisio de endividamento que no respeita seu poder aquisitivo, o
que resulta em dificuldades para gerenciar o oramento financeiro. Nesse sentido, importante
que o crdito e os juros sejam usados pelas pessoas de forma consciente, como recursos de ajuste
e alcance do equilbrio entre receitas e despesas, evitando que seu uso seja estimulado por
propaganda, vaidade e outros apelos sociais que possam levar as pessoas ao consumo
inconsequente.
2.4.2. Desafios para a educao financeira
O maior desafio para o crdito oferecer recursos financeiros com taxas de juros
compatveis com a capacidade de pagamento dos devedores para aquisio de bens de consumo
ou para formao de capital de giro e de capital de investimentos para empresas.
Considerando as informaes do Banco Central sobre a decomposio do spread
8
,
a inadimplncia uma das principais explicaes para as elevadas taxas de juros atuais nas
8
Diferena entre a taxa mdia de emprstimo e a taxa mdia de captao dos recursos financeiros pelos bancos.
49
operaes de crdito no Brasil, demonstrando que deve-se enfatizar pontos que estimulem mais
responsabilidade por parte dos tomadores.
Para manter uma vida financeira saudvel e responsvel, o cidado deve ter
conscincia do perigo do mito do dinheiro fcil, encorajado por uma variedade de ofertas, como
carto de crdito, crdito pr-aprovado, prazo extenso. necessrio esclarecer as pessoas sobre a
importncia do planejamento financeiro e sobre a necessidade de se fazer oramento pessoal ou
domstico, capaz de orient-las a conservar suas despesas no limite de sua renda. Deve-se alertar
tambm sobre o alto risco do uso continuado de financiamentos por meio da margem do cheque
especial e dos cartes de crdito, em razo de sua elevada taxa de juros. O saldo elevado nessas
operaes, em geral, sintoma de descontrole financeiro, recomendando-se sua renegociao ou
troca por crditos pessoais parcelados, que envolvem prazos mais extensos e juros mais baixos,
alm de melhor acompanhamento do oramento pessoal. O cidado, ao assumir uma dvida ou
fazer uma compra financiada, deve conhecer as principais modalidades de crdito que pretende
utilizar, a fim de evitar surpresas, e fazer escolha mais consciente e menos onerosa.
As pessoas devem se informar, tambm, sobre as taxas de juros praticadas,
principalmente quando a operao envolver endividamento e prestaes elevados, como no caso
da compra de automvel ou de casa prpria. Para tanto, devem ser orientadas quanto aos locais
onde tais informaes podem ser encontradas, como no stio da internet do Banco Central e em
locais pblicos das agncias bancrias. Devem tambm ser alertadas quanto ao dever das
instituies financeiras de prestarem informao prvia sobre o Custo Efetivo Total (CET) (taxas
de juros e outros encargos) das operaes realizadas.
Entretanto, de nada adianta obter informaes precisas sobre o custo do crdito, se
o cidado no for devidamente orientado a evitar obter crdito com o foco no valor da prestao,
e no no custo da operao. Esse o maior desafio, principalmente para a populao de
baixa renda.
50
Alm disso, as pessoas devem ter noes bsicas sobre a importncia dessas
informaes para o crdito, sobre a regulamentao do uso desse tipo de informao pelos
credores usurios, assim como sobre os direitos dos devedores quanto ao acesso a esses dados.
Devem, ainda, ser orientadas quanto aos procedimentos para excluso de eventuais registros
negativos ou no verdadeiros, para evitar decises e interpretaes equivocadas.
No mesmo sentido, a importncia da proteo ao crdito e as normas e
procedimentos relativos a cobrana e execuo de dvidas no pagas, mesmo sobre as
responsabilidades quanto ao pagamento de juros moratrios e custas judiciais, devem ser de
conhecimento dos cidados. Eles devem ser orientados a buscar os rgos pblicos que podem
ser acionados em casos de dificuldades com os servios das instituies financeiras (centrais de
atendimento no Banco Central, delegacias e entidades de proteo ao consumidor). Os
consumidores brasileiros podem se tornar administradores eficientes do crdito por meio de
aes que proporcionem conhecimento e entendimento sobre o sistema de crdito, suas
terminologias e as instituies envolvidas, bem como alertados sobre seus direitos.
Com os apelos da propaganda, parece ser fcil obter crdito, em especial para
financiar a compra de automveis e outros bens. Nesse caso, o problema a tentao de gastar e
de se endividar mais do que seria desejvel, gerando dificuldades para pagamento. Atrasos nos
pagamentos de um carto de crdito ou de um carn podem gerar constrangimento para as
pessoas. O no pagamento dessas obrigaes pode gerar cobranas judiciais, restries em
cadastros de proteo ao crdito, o que, no Brasil, pode significar at cinco anos de dificuldades
na obteno de novos crditos, incluso do nome em dvida ativa e, at mesmo,
desestruturao familiar.
Em que pese o apelo dos meios de informao para consumo e para crdito fcil, a
reduo de gastos por eliminao de desperdcios, a reduo de consumos suprfluos, a
otimizao de despesas, a conscincia de comprometimento da renda com a multiplicidade de
51
prestaes com prazos longos so conceitos e passos fundamentais que devem ser
recorrentemente transmitidos ao cidado comum.
A preocupao com a inadimplncia relevante, mesmo porque as operaes de
crdito so diferentes das demais transaes econmicas, cuja disponibilidade e preo so
bastante afetados pela confiana no resgate da operao. Nesse sentido, alm da influncia da
situao geral da economia e do prprio crdito, a concesso e fixao dos juros so avaliadas
com base na credibilidade da pessoa que toma o crdito e das garantias oferecidas, ao contrrio
dos demais produtos e servios convencionais, cujo preo independe da situao do comprador,
sendo fixado conforme a escassez e as caractersticas dos prprios produtos.
Para reduzir problemas com avaliao do crdito, a informao elemento
fundamental. Para quem pretende tomar crdito, importante conhecer as diferentes
modalidades de operao, as taxas de juros praticadas no mercado e as diversas fontes de
informao utilizadas pelos bancos para avaliao de risco, para que possa negociar
condies favorveis.
2.5. Investimentos
Investir aplicar recursos, visando obteno de lucro ou remunerao do
capital. Os investimentos contemplam desde a compra de bens durveis at a aplicao em
ttulos ou direitos. A motivao para investir pode ser a valorizao do bem, o rendimento
financeiro ou o aumento da capacidade produtiva.
O SFN viabiliza a transferncia de recursos entre unidades
9
superavitrias, que
dispem de excedentes financeiros e unidades deficitrias, que precisam realizar captaes. Em
troca dessa cesso temporria de recursos, de curto, mdio ou longo prazos, as unidades
9
Unidades podem ser indivduos, famlias, empresas ou governos.
52
deficitrias remuneram pelo capital, diretamente ou por meio de instituies financeiras, ou
atribuem ao investidor direito de participao no capital do empreendimento.
Essas transferncias podem ser realizadas em diferentes segmentos do mercado
financeiro: monetrio realiza a poltica monetria; de crdito permite o financiamento de
empresas, pessoas fsicas e governo; de cmbio possibilita a negociao com moedas
estrangeiras; e de capitais utilizado principalmente para financiar empreendimentos a mdio e
longo prazos. Neste ltimo segmento se destacam os valores mobilirios.
So valores mobilirios os ttulos expressamente elencados na Lei n 6.385, de
7 de dezembro de 1976, que dispe sobre o mercado de capitais e institui a CVM, autarquia
federal vinculada ao Ministrio da Fazenda. Os ttulos mais representativos so: aes,
debntures, cotas de fundos de investimento e de clubes de investimento, notas promissrias
comerciais, certificados de depsito de valores mobilirios, ndices representativos de carteira de
aes, opes de compra e venda de valores mobilirios, cotas de fundos imobilirios,
certificados de investimento audiovisual, contratos de investimento coletivo, recibos de
depsitos, certificados de recebveis imobilirios e derivativos.
A Lei n 6.385, de 1976, tambm estabelece parmetros para insero de
quaisquer outros ttulos ou contratos coletivos, quando ofertados publicamente, desde que gerem
direito de participao, de parceria ou de remunerao. Essa definio de valores mobilirios
aplica-se ainda aos contratos e ttulos resultantes de prestao de servios, cujos rendimentos
advenham do esforo do empreendedor ou de terceiros.
Determinado produto financeiro poder ser considerado valor mobilirio
conforme as caractersticas da emisso e da forma de oferta ao pblico, exceto nas hipteses
expressamente excludas pela lei, como os ttulos da dvida pblica federal, estadual e municipal.
A maioria dos produtos financeiros considerados como investimento est
submetida superviso do BCB e da CVM. Entretanto, alguns produtos, embora possam ser
53
caracterizados como investimentos, so controlados e fiscalizados pela Susep, como o Plano
Gerador de Benefcio Livre (PGBL) e o Seguro de Vida Gerador de Benefcios Livres (VGBL).
2.5.1. Cenrio
Em linhas gerais, o volume de investimentos realizados por meio do mercado
financeiro apresentou crescimento contnuo nos ltimos anos, mesmo com o impacto da crise
financeira internacional, desde o final de 2007.
Os depsitos em caderneta de poupana, a mais tradicional opo de investimento
financeiro, superaram, pela primeira vez, em julho de 2008, a marca histrica de R$250 bilhes,
segundo dados do BCB. Conforme demonstrado no grfico a seguir, verifica-se crescimento das
aplicaes nesse produto financeiro, por parte da populao brasileira.
Grfico 2 Evoluo dos depsitos de caderneta de poupana entre 2004 e 2008
Caderneta de Poupana (R$ bilhes)
0
50
100
150
200
250
300
Dez 2004 Dez 2005 Dez 2006 Dez 2007 Out 2008
54
O volume de dinheiro investido em CDB alcanou R$ 681 bilhes, em dezembro
de 2008, contra R$326 bilhes em 2006, segundo dados do Balco Organizado de Ativos e
Derivativos (Cetip).
Embora as pesquisas indiquem, de forma geral, pouco conhecimento de finanas
por parte da populao, a quantidade de investidores tem aumentado significativamente,
principalmente em decorrncia da estabilidade econmica, do crescimento do pas, da ampliao
da renda da populao brasileira e, em especial, do progressivo crescimento da classe mdia.
Uma forma inovadora de investimento, no Brasil, a aquisio de ttulos pblicos
federais, diretamente pelas pessoas fsicas, por meio do programa Tesouro Direto, lanado pelo
governo em 2002, que possibilita ao cidado gerenciar seus investimentos de curto, mdio ou
longo prazo. Em 2002, aproximadamente seis mil pessoas adquiriram cerca de R$76 milhes por
meio desse programa. Em 2008, essa modalidade foi utilizada por aproximadamente 146 mil
investidores, com aplicaes da ordem de R$1,55 bilho.
Nos ltimos anos, cresceu o interesse por aplicaes em renda varivel, mesmo
que elas impliquem a necessidade de mais ateno do investidor a questes relativas a
oportunidades e riscos. O comportamento do nmero de investidores individuais, pessoas
fsicas que aplicam diretamente em aes, demonstra mais interesse por diversificao de
investimentos pessoais.
Ao final de 2008, a Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBovespa)
registrava mais de 530 mil contas de investidores pessoas fsicas, um avano de cerca de 17% em
relao ao ano anterior. Os clubes de investimento, outra modalidade de participao de pessoas
fsicas na bolsa, registraram crescimento expressivo em 2008, alcanando cerca de 2.800 clubes
e aproximadamente 150 mil cotistas.
55
Grfico 3 Evoluo da quantidade de investidores individuais na
BM&FBovespa
O crescimento se refletiu no montante de ofertas pblicas de valores mobilirios e
nas aes listadas em bolsa. As ofertas registradas na CVM evoluram de R$27 bilhes, em
2002, para R$140 bilhes, em 2008. No mercado acionrio, a soma do valor de mercado das
companhias abertas correspondia a R$1,38 trilho em dezembro de 2008. Embora esse montante
seja inferior ao alcanado em 2007 e 2006 (R$2,48 trilhes e R$1,54 trilho, respectivamente),
em razo dos efeitos da crise financeira internacional, a bolsa brasileira maior do que a de
outros pases emergentes da regio, como a do Mxico, a da Argentina e a do Chile.
O Home Broker, sistema que permite ao investidor fazer aplicaes em bolsa por
meio da internet, apresentou significativo crescimento em 2008, tanto no volume aplicado
quanto na quantidade de investidores. As operaes por meio dessa ferramenta responderam por
Investidores individuais na BM&FBovespa
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
2005 2006 2007 2008
56
12,9% do volume total negociado no mercado de aes, crescimento de quase 50% em
relao a 2007.
Embora a pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular (2008) tenha
demonstrado grande desconhecimento da populao sobre o que so fundos de investimento,
dados da Associao Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID) evidenciam tendncia clara
de expanso das aplicaes nesses fundos, cujo patrimnio lquido total, ao final de 2008,
correspondia a cerca de R$1,12 trilho, representando aproximadamente R$10,1 milhes de
cotistas como demonstrado no grfico a seguir.
Grfico 4 Patrimnio lquido dos fundos de investimento
2.5.2. Desafios para a educao financeira
Aes de educao e proteo ao investidor, no Brasil, remontam ao final da
dcada de 70, a partir, especialmente, da reorganizao institucional do mercado de capitais
Fundos de Investimento - Patrimnio Lquido (R$ bilhes)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
2005 2006 2007 2008
57
brasileiro, quando esforos importantes de educao financeira foram lanados, com a
instituio do Comit de Divulgao do Mercado de Capitais (Codimec), em 1977. No final da
dcada de 90, houve novo impulso de desenvolvimento da educao financeira para
investimentos, com lanamento de diversos programas educacionais, pelo governo e pelo
setor privado. Recentemente, rgos governamentais e participantes do mercado financeiro
passaram a empreender esforos de cooperao e integrao dessas iniciativas, visando
educao financeira.
Tais esforos se tornam mais necessrios, pois os mercados financeiro e de
capitais vm desenvolvendo novos produtos, muitos deles complexos e de mais risco, exigindo
que o pblico investidor esteja adequadamente informado a respeito de suas caractersticas e
capacitado para compreender os riscos e as oportunidades de investimento, formulando decises
adequadas ao seu perfil e aos seus objetivos de vida.
A educao financeira deve promover conscientizao dos investidores,
oferecendo conjunto amplo de informaes sobre os tipos de investimento disponveis no
mercado, apresentadas sob a tica do investidor, de forma clara, completa e sem vis comercial.
Alm das caractersticas tcnicas de cada investimento financeiro, que
contemplam seus custos e riscos, o cidado deve ser informado dos seus direitos como
investidor, conforme o produto ou o servio financeiro envolvidos. Direitos de participao em
lucros, de informao, de fiscalizao, entre outros, no podem ser exercidos quando
so desconhecidos.
O conhecimento imperfeito nesse tema pode contribuir para ocorrncia de litgios
entre os investidores e os intermedirios, emissores ou prestadores de servios financeiros que
no tenham amparo legal. A falsa percepo de violao de direitos gera conflitos que produzem
desgastes e custos desnecessrios para as instituies e os seus clientes e, coletivamente, pode
reduzir a eficincia do mercado.
58
Muitas vezes, o prprio aparato estatal pode ser movimentado para esclarecer
situaes em que o descumprimento de uma regra ou a violao de um direito apenas aparente,
dando origem a processos administrativos, no caso de reclamaes e denncias formuladas nos
rgos reguladores, ou judiciais.
Tambm se mostra necessria a prestao de orientaes sobre a forma de
exerccio dos direitos dos investidores, para que sejam buscados os meios adequados para
defend-los. Investidores que conheam as garantias e os meios j existentes para proteo de
seus investimentos, como o mecanismo de ressarcimento de prejuzos mantido por entidades
administradoras de mercado de bolsa, podem recorrer diretamente aos instrumentos j existentes.
Essa atuao abrevia o processo de esclarecimento de situaes de conflito ou de dvida e,
quando possvel, pode at permitir a recomposio de perdas que no decorram unicamente dos
riscos naturais das aplicaes de mercado.
Alm disso, o pleno conhecimento dos direitos dos investidores permite aos
mesmos assumirem fiscalizao mais ativa e embasada quanto gesto de seus recursos. Esse
maior grau de exigncia do cidado em relao s instituies participantes do mercado contribui
para aprimorar a qualidade das informaes e dos servios prestados pelos emissores,
intermedirios e prestadores de servios, pois cidados mais ativos buscaro no apenas
melhores oportunidades de investimento, mas tambm entidades que desenvolvam relaes de
respeito aos direitos dos consumidores e investidores.
Para o sistema financeiro, as escolhas conscientes em busca de melhor
atendimento, que valorizam empresas e instituies ou mesmo segmentos de mercado, que
adotem elevados padres de governana e de relaes com investidores e clientes, estimulam a
sua modernizao, aumentando a concorrncia e a eficincia.
Investidores bem informados e orientados podem, tambm, identificar facilmente
ofertas de investimento irregulares ou ilcitas, reportando aos rgos reguladores a ocorrncia de
59
emisses irregulares de valores mobilirios, golpes financeiros e outras condutas ilegais. Quando
o comunicado s autoridades prontamente realizado, so ampliadas as chances de reduzir a
propagao de esquemas ilegais de captao da poupana popular, evitando que mais pessoas
sejam lesadas. Esse papel de auxiliar a superviso, que resulta das informaes prestadas pelo
cidado, contribui para elucidao de ilcitos e para punio dos culpados, tanto na esfera
administrativa quanto, quando cabvel, na judicial. Como consequncia, o grau de confiana da
populao nos mercados financeiros pode ser robustecido.
Alm de informar e orientar, a educao de investidores deve oferecer cursos e
outros meios de formao, de modo que os indivduos adquiram habilidades e conhecimento
necessrios para compreender plenamente as informaes prestadas. As regras governamentais e
do prprio mercado, da autorregulao, que visam prestao obrigatria de informaes, pouco
podero contribuir para qualidade e adequao das decises de investimento se o cidado no
tiver as habilidades necessrias para entend-las e fazer a melhor escolha para si prprio. Mesmo
o desenvolvimento de ferramentas que permitam comparao entre custos e riscos de diferentes
opes pode se mostrar de pouca utilidade se os consumidores no estiverem adequadamente
capacitados. A capacitao ainda mais necessria para que os investidores acessem mercados e
produtos mais sofisticados, os quais tm seu papel a desempenhar no sistema financeiro.
A sofisticao do sistema financeiro processo inafastvel, sendo benfica ao
sistema financeiro quando adequadamente regulada e supervisionada pelos rgos
governamentais, pois possibilita o surgimento de produtos e estratgias de investimento que
sejam mais adequadas ao perfil, s necessidades e aos objetivos de cada pessoa. Instrumentos
derivativos, bem compreendidos e utilizados, podem fornecer poderosas ferramentas para
proteo e transferncia de riscos de mercado, como ocorre nas operaes de hedge (proteo), e
para realizao de operaes de investidores mais sofisticados.
60
Os esforos para aumentar a transparncia e a qualidade da prestao de
informaes, de modo que sejam precisas e completas, no podem, desse modo, eliminar a
complexidade de certos investimentos. Em certos casos, a simplificao excessiva de materiais
publicitrios, prospectos, termos e outros documentos de contedo informativo poderia ocultar
os riscos reais envolvidos e causar falsa percepo da realidade. Nesses casos, as iniciativas de
educao financeira devem se assegurar de que o cidado est adequadamente capacitado para
compreender as caractersticas, os riscos e as oportunidades de cada investimento.
Para tanto, cabe ser implementada ao educacional coordenada do setor privado
e do setor governamental, a ser combinada, caso a caso, com adoo de polticas regulatrias
apropriadas. Essa atuao conjunta de educao e de regulao promover um ambiente de
maior proteo a todos os investidores, sem prejuzo de haver ateno especial aos mais
vulnerveis, seja por causa de seu menor poder econmico e capacidade de organizao, seja por
sua dificuldade de lidar com produtos financeiros.
2.6. Previdncia social
A previdncia social direito garantido aos cidados brasileiros pela Constituio
Federal, em seu artigo 6, definida no Ttulo da Ordem Social. Sua finalidade proteger e
oferecer segurana ao trabalhador ao longo de sua vida, de forma que se garanta a ele e a sua
famlia a manuteno, total ou parcial, da renda auferida quando perde, permanente ou
temporariamente, a capacidade para o trabalho. Eventos como doena, velhice e natalidade esto
assegurados pelo sistema previdencirio brasileiro por meio da contraprestao de benefcios,
como auxlio doena, aposentadoria e auxlio natalidade.
As pessoas esto sujeitas a situaes de risco, que podem torn-las incapazes para
o exerccio de atividades laborais. Alguns riscos so previsveis, outros acidentais, sendo os mais
relevantes morte prematura, enfermidade grave, perda de renda, invalidez e enfrentamento da
61
velhice em condies financeiras desfavorveis, comparativamente quelas usufrudas no
perodo laboral. Os sistemas pblicos de sade e assistncia social oferecem proteo para essas
situaes. No entanto, nem sempre esses sistemas suprem as reais necessidades dos indivduos,
em razo das limitaes dos programas governamentais, em especial no tocante percepo de
valores financeiros.
Nesse cenrio, so institudas e regulamentadas as modalidades privadas de
preveno contra impactos financeiros negativos relacionados com o enfrentamento desses
infortnios, ou seja, programas de adeso voluntria, normalmente operados por entidades
abertas e fechadas de previdncia complementar, voltados ao atendimento das necessidades de
pessoas que recebem remunerao acima do limite mximo coberto pelo sistema pblico de
previdncia. Os planos de previdncia privada se caracterizam pelo financiamento dos
trabalhadores e, em muitos casos, tambm dos empregadores.
O sistema previdencirio brasileiro, conforme a Figura 1, constitudo de trs
regimes: (i) Regime Geral de Previdncia Social (RGPS), (ii) Regime Prprio de Previdncia
Social (RPPS) e (iii) Regime de Previdncia Complementar, representados a seguir.
Figura 1: Sistema previdencirio brasileiro
Fonte: Constituio Federal de 1988 e Leis Complementares n 108 e n 109, ambas de 29 de maio de 2001.
Elaborao: Secretaria de Previdncia Complementar/Ministrio da Previdncia Social
62
O acesso previdncia social se d mediante contraprestao de natureza
tributria, e a assistncia social direito universal, no exige contribuio, sendo concedida,
porm, apenas queles que comprovem no possuir meios de se manter, nem de serem mantidos
por sua famlia.
O RGPS destina-se a proteger os trabalhadores do setor privado e os servidores
pblicos no protegidos por RPPS. O sistema pblico, de carter compulsrio, administrado
pelo Ministrio da Previdncia Social (MPS), e sua execuo de competncia do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS).
O RPPS o sistema previdencirio estabelecido no mbito de cada ente federativo
(Unio, estados, Distrito Federal e municpios), que assegura, por lei, a todos os servidores
pblicos titulares de cargo efetivo, pelo menos os benefcios de aposentadoria e penso. Esse
sistema abrange os 26 estados da Federao, o Distrito Federal e 2.197 municpios,
representando 39,30% do total de municpios existentes no Brasil, de acordo com os dados
extrados do MPS, consolidados em setembro de 2008.
A previdncia complementar foi regulamentada no Brasil, pela Lei n 6.435, de 15
de julho de 1977, e divide-se em dois segmentos: previdncia complementar aberta, administrada
por sociedades seguradoras autorizadas a trabalhar com seguros de pessoas, e por entidades
abertas de previdncia complementar, disponvel a qualquer cidado; e previdncia
complementar fechada, operada pelas entidades fechadas de previdncia complementar (fundos
de penso), acessvel aos empregados de um patrocinador (empresas que estabelecem seu
prprio fundo de penso ou contratam plano em fundo de penso multipatrocinado) e aos
trabalhadores cujo sindicato ou associaes instituram planos (instituidores).
Atualmente, a previdncia complementar fechada regulada pelo Conselho de
Gesto da Previdncia Complementar (CGPC) e supervisionada e fiscalizada pela PREVIC,
ambos rgos integrantes do Ministrio da Previdncia Social. Destaca-se que foi encaminhado
63
ao Congresso Nacional o Projeto de Lei n 3.962, de 2008, que dispe sobre a instituio da
Superintendncia Nacional de Previdncia Complementar (Previc), autarquia de natureza
especial, que ser responsvel pela superviso e pela fiscalizao das entidades fechadas de
previdncia complementar.
Por lei, as operadoras do segmento de previdncia complementar aberta fazem
parte do Sistema Nacional de Seguros Privados (SNSP). Tm como rgo normatizador de suas
atividades o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e esto sob superviso e
fiscalizao da Susep, ambos situados na esfera de competncia do Ministrio da Fazenda.
2.6.1.Cenrio
De acordo com a PNAD de 2006, existem no Brasil 51,9 milhes de pessoas
socialmente protegidas com idade de 16 a 59 anos (ver Figura 2). Esse contingente faz parte do
universo de 80,9 milhes de pessoas que se declaram ocupadas e se encontram na mesma faixa
etria, o que significa cobertura total de 64,1%. Em outras palavras, de cada dez trabalhadores,
cerca de seis esto socialmente protegidos. Por outro lado, 29 milhes de pessoas, ou seja, 35,9%
da populao ocupada encontram-se sem nenhum tipo de cobertura social.
Entre os idosos, aqui considerados aqueles com 60 anos ou mais, a proteo social
chega a 80,8%, sendo que a proteo social dos homens chega a 85,7%, resultado superior ao
observado em relao s mulheres (77%). Os dados da PNAD indicam tendncia de melhoria na
proteo social.
64
Figura 2 - Brasil: Proteo previdenciria da populao ocupada (de 16 a 59 anos) em 2006
Fonte: PNAD/IBGE, 2006 Elaborao: SPS/MPS.
* Na PNAD essas pessoas se autodeclaram no contribuintes.
** Contempla 327,54 mil desprotegidos, com rendimento ignorado.
*** Entre os trabalhadores socialmente desprotegidos, 376.122 possuem rendimento desconhecido
A maior categoria de protegidos, em termos relativos e absolutos, a dos
contribuintes do RGPS (45,6% dos ocupados com idade de 16 a 59 anos), seguida pela dos
segurados especiais rurais
10
(9,9%), dos segurados dos RPPS (7,0%) e dos no contribuintes que
recebem benefcios previdencirios (1,6%).
Os trabalhadores socialmente desprotegidos que, como mencionado, somam
29,03 milhes de pessoas em 2006 so aqueles que no contribuem para a previdncia social,
no recebem benefcios previdencirios e no se enquadram na categoria de segurados especiais.
Desse contingente
11
, 15,42 milhes (19,1% do total) possuem capacidade contributiva renda
10
O segurado especial o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatrio rural, o pescador artesanal e seus
assemelhados, que exeram suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, com ou sem o
auxlio eventual de terceiros, bem como seus respectivos cnjuges ou companheiros e filhos maiores de 16
(dezesseis) anos de idade ou a eles equiparados, desde que trabalhem comprovadamente com o grupo familiar
respectivo Esse segurado, segundo o disposto no art. 25 da Lei n 8.212, de 24 de julho de 1991, est obrigado a
recolher a contribuio de 2,1% sobre a receita bruta decorrente da comercializao da produo rural.
11
Excludas 327.540 mil pessoas sem declarao do valor do rendimento.
CONTRIBUINTES (5,63 milhes)
Regimes Prprios (Militares e
Estatutrios)
CONTRIBUINTES (36,93 milhes)
Regime Geral de Previdncia
Social RGPS
SEGURADOS ESPECIAIS**
(RURAIS) (8,04 milhes) Regime
Geral de Previdncia Social RGPS
NO CONTRIBUINTES
(30,31 milhes)
POPULAO OCUPADA DE 16
A 59 ANOS (80,93 milhes)
BENEFICIRIOS
(1,28 milho)
SOCIALMENTE
DESPROTEGIDOS
(29,03 milhes)***
< 1 Salrio Mnimo
(13,27 milhes)
Igual ou maior que 1
Salrio Mnimo
(15,42 milhes)
SOCIALMENTE
PROTEGIDOS
(51,90 milhes):
64,1%
35,9% do Total
CONTRIBUINTES (5,63 milhes)
Regimes Prprios (Militares e
Estatutrios)
CONTRIBUINTES (36,93 milhes)
Regime Geral de Previdncia
Social RGPS
SEGURADOS ESPECIAIS**
(RURAIS) (8,04 milhes) Regime
Geral de Previdncia Social RGPS
NO CONTRIBUINTES
(30,31 milhes)
POPULAO OCUPADA DE 16
A 59 ANOS (80,93 milhes)
BENEFICIRIOS
(1,28 milho)
SOCIALMENTE
DESPROTEGIDOS
(29,03 milhes)***
< 1 Salrio Mnimo
(13,27 milhes)
Igual ou maior que 1
Salrio Mnimo
(15,42 milhes)
SOCIALMENTE
PROTEGIDOS
(51,90 milhes):
64,1%
35,9% do Total
65
mensal igual ou superior a um salrio mnimo e poderiam ser incorporados ao RGPS. No
entanto, 13,27 milhes possuem rendimentos inferiores ao valor do salrio mnimo e, portanto,
dificilmente teriam condies de contribuir para a previdncia.
Os dois grupos com maior nmero de desprotegidos so os trabalhadores
domsticos sem vnculo formal e os empreendedores individuais (aqueles que trabalham por
conta prpria, como manicures, cabeleireiros, camels, vendedores ambulantes). De acordo com
a PNAD 2007, os trs menores percentuais de contribuio para a previdncia ocorreram nos
grupamentos de atividades agrcolas (15,4%), servios domsticos (30,4%) e construo civil
(32,6%), que so, tradicionalmente, os que possuem maiores percentuais de trabalhadores por
conta prpria e empregados sem vnculo formal de trabalho. Existem mais de 5,3 milhes de
trabalhadores domsticos e mais de 10 milhes de empreendedores individuais que no
contribuem para a previdncia social.
Em relao ao RGPS, a PNAD, de 2007, revelou que apenas 50,7% dos
trabalhadores contribuem para a previdncia social, mesmo tendo havido aumento recente do
nmero de trabalhadores com carteira assinada (33,1% em 2005 e 35,3% em 2007).
Entre 1995 e 2006, houve aumento do potencial de incluso previdenciria, ou
seja, a participao de no contribuintes com renda igual ou superior a um salrio mnimo teve
substantivo crescimento, saltando de 40,9% em 1995 para 53,2% em 2006.
Os valores reais dos benefcios mdios pagos pelo INSS, considerando-se o ndice
Nacional de Preos ao Consumidor (INPC), ou seja, os valores de benefcios pagos ao longo dos
anos corrigidos pelo INPC para 2008 cresceram 15,9%, comparando-se os valores de 2001
(R$574,18) e de 2008 (R$665,27). Em dezembro de 2008, 68% dos benefcios pagos possuam
valores de at um salrio mnimo. Um dos motivos para o aumento do valor mdio dos
benefcios a poltica nacional de valorizao do salrio mnimo, que vem sendo reajustado
acima da inflao nos ltimos anos.
66
Desde 1988, os RPPS passaram por trs grandes reformas promovidas por
emendas constitucionais, as quais produziram significativos impactos no sistema previdencirio,
como aumento da idade para concesso de aposentadoria e diminuio da relao entre
aposentados e ativos. A idade mdia de aposentadoria dos servidores pblicos do sexo
masculino, que era de 57 anos em 1999, aumentou para 61 anos em 2006, e a dos servidores
pblicos do sexo feminino, que em 1999 era de 53 anos, passou a ser de 58 anos em 2006.
A relao percentual entre servidores aposentados e ativos tem diminudo ao
longo dos anos (79,4% em 1999 e 70% em 2008), influenciada pela idade de entrada em
aposentadoria, ou seja, o nmero de servidores ativos tem aumentado em relao ao nmero de
participantes aposentados.
No mbito do regime de previdncia complementar, a pesquisa nacional realizada
pelo Instituto Data Popular em 2008 revelou que apenas 31% da populao brasileira poupam
frequentemente para a sua aposentadoria, e apenas 13% da populao possui algum plano de
previdncia complementar, seja ele aberto, seja fechado. Ainda como resultado da pesquisa,
observou-se que 68% da populao da classe A e 37% da classe B possuem plano de previdncia
complementar. Porm, se considerado o total de indivduos pesquisados, 65% das pessoas que
dizem ter plano de previdncia pertencem s classes C e D.
Para atingir o objetivo de complementar o valor de sua renda aps a
aposentadoria, principalmente para aqueles cujos rendimentos atuais esto acima do valor de teto
da previdncia social (RGPS), necessrio que, ao longo da vida laboral, seja formado
patrimnio. Para formar esse patrimnio, as pessoas podem, entre outras coisas, fazer
investimentos no mercado financeiro, comprar imveis ou adquirir planos de previdncia
complementar.
Outras circunstncias podem motivar as pessoas a participarem de programas
privados de carter previdencirio, visando acumular poupana, destacando-se: (i) provimento de
67
recursos para futuro custeio da educao de filhos, assim como para iniciao da vida
profissional sob regime autnomo, mediante instituio de planos de titularidade de menores
dependentes; e (ii) garantia de reserva financeira para futuras despesas com a sade. Um dos
grandes diferenciais dos produtos de previdncia complementar o tratamento tributrio
aplicado a tais produtos, o que contribui muito para estimular a participao de mais pessoas
nesses planos.
A partir de meados da dcada de 1990, o segmento de previdncia complementar
aberta experimentou saudvel crescimento em suas atividades, tendo aumentado,
significativamente, no apenas o nmero de participantes nos planos de benefcios de carter
previdencirio, mas tambm, o volume de recursos arrecadados para custeio desses planos.
O nmero total de participantes de planos de benefcios de previdncia
complementar aberta cresceu mais de 38% de 2004 a 2008, devido, principalmente, ao aumento
do nmero de participantes nos segmentos de peclio, penso, PGBL
12
e VGBL
13
.
O nmero de contrataes de planos de previdncia complementar aberta
individuais e de adeses a eles cresceu 61% de dezembro de 2002 a dezembro de 2008. A
quantidade de planos empresariais de previdncia complementar aberta comercializados cresceu
77,6% de dezembro de 2002 a dezembro de 2008.
Como consequncia do aumento no nmero de contrataes dos planos
individuais e empresariais, as contribuies vertidas cresceram substancialmente nos ltimos
anos.
O volume da poupana mantida pela sociedade nesses produtos especialmente
12
PGBL Plano Gerador de Benefcio Livre - Plano de previdncia complementar aberta, com cobertura por
sobrevivncia, cuja principal caracterstica ausncia de rentabilidade mnima garantida durante a fase de
acumulao dos recursos, sendo a rentabilidade da proviso idntica rentabilidade do fundo em que os recursos
esto aplicados.
13
VGBL Vida Gerador de Benefcio Livre - Plano de seguro de pessoas, com cobertura por sobrevivncia, cuja
principal caracterstica ausncia de rentabilidade mnima garantida durante a fase de acumulao dos recursos,
sendo a rentabilidade da proviso idntica rentabilidade do fundo em que os recursos esto aplicados.
68
no perodo de acumulao de planos com cobertura por sobrevivncia
14
tambm experimentou
expressivo incremento, como se pode depreender dos nmeros constantes no Grfico 5 a seguir,
onde se demonstra como cresceu, no perodo, o saldo das provises matemticas
15
.
Grfico 5 Evoluo das provises matemticas da previdncia complementar aberta
2002 a 2008
29,5
44,4
61,2
77,0
96,5
120,8
141,5
-
20
40
60
80
100
120
140
160
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Valores em Bilhes (R$)
Fonte: SUSEP
O Brasil, de acordo com dados obtidos na OCDE, representava em 2005 o oitavo
maior sistema de previdncia complementar fechada no mundo. Acompanhando a tendncia
14
Cobertura por sobrevivncia A que garante pagamento de benefcio pela sobrevivncia do participante ao
perodo de diferimento contratado.
15
Proviso matemtica A Proviso Matemtica de Benefcios a Conceder abrange os compromissos assumidos
pela entidade aberta de previdncia complementar ou sociedade seguradora com os participantes ou segurados do
respectivo plano, enquanto no ocorrido o evento gerador do benefcio. calculada conforme a metodologia
aprovada na nota tcnica atuarial do plano ou produto. A Proviso Matemtica de Benefcios Concedidos
corresponde ao valor atual dos benefcios cujo evento gerador tenha ocorrido. calculada conforme a metodologia
aprovada na nota tcnica atuarial do plano ou produto.
69
internacional, o crescimento do nmero de planos de contribuio definida
16
, CD, foi de 55,21%
nos ltimos cinco anos, e o crescimento dos planos de benefcio definido
17
, BD, foi inferior a
10% no mesmo perodo.
O segmento de previdncia complementar no pas tem crescido, principalmente,
por meio da constituio de novos planos de benefcios, que so administrados por fundos de
penso j existentes, configurando crescimento das Entidades Fechadas de Previdncia
Complementar (EFPC) multiplano e multipatrocnio, caracterizadas na Lei Complementar n
109, de 2001.
Atualmente, o segmento de previdncia complementar fechado constitudo
principalmente por Entidade Fechada de Previdncia Complementar (EFPC) classificadas como
privadas (78% do total de EFPC), bem como possui 87% de patrocinadores privados.
Percebe-se incremento nos recursos garantidores acumulados pelas EFPC. Esse
aumento resultado, principalmente, do bom desempenho do mercado financeiro brasileiro nos
ltimos anos, com destaque para os segmentos de aplicao de renda varivel e das elevadas
taxas de juros pagas pelos ttulos pblicos federais no segmento de renda fixa, aliado a boa
governana nos fundos de penso.
16
Planos de contribuio definida so aqueles cujos benefcios programados tm seu valor permanentemente
ajustado ao saldo de conta mantido em favor do participante, mesmo na fase de percepo de benefcios.
17
Plano de benefcio definido aquele cujos benefcios programados tm valor ou nvel previamente estabelecido,
sendo o custeio determinado por clculo atuarial, de forma que se assegure sua concesso e manuteno.
70
Grfico 6 Evoluo do valor total de ativo das EFPC no Brasil 2002 a 2008
116,0
72,0
150,2
89,5
177,3
104,4
203,4
118,2
242,9
134,4
299,2
158,5
283,1
159,8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Bilhes
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Pblicas Privadas
187,9
239,7
281,8
321,6
377,3
457,6
442,9
% PIB 12,7% 14,1% 14,5% 15,0% 16,2% 17,9% 15,3%
Valores em Bilhes (R$)
Fonte: SPC
Em que pese o nmero de entidades privadas atualmente ser superior ao das
pblicas, o valor total do ativo das pblicas cresceu 89% nos ltimos cinco anos, e o das privadas
aumentou 79% no mesmo perodo, como pode ser verificado no grfico acima. Em relao ao
nmero de participantes dos planos previdencirios das EFPC, constata-se que houve aumento
no nmero de participantes ativos (17%), maior que o aumento no nmero de participantes
assistidos (10%) e no de pensionistas (11%).
2.6.2. Desafios para a educao financeira
A previdncia no Brasil possui grande potencial para aumento de cobertura, seja
no RGPS, seja no Regime de Previdncia Complementar aberto ou fechado. O grau de educao
71
financeira apresenta grande implicao para o bom funcionamento do sistema de previdncia, j
que os indivduos precisam manter-se no sistema, contribuindo ao longo de sua vida, para obter
benefcio depois de 20 ou 30 anos.
De acordo com dados da PNAD 2007, observa-se continuao da tendncia do
envelhecimento da populao. Entre aqueles com 40 anos ou mais, foi observada taxa de
crescimento positiva percentual de 4,2% , e, na populao mais jovem, de 0 a 14 anos, houve
reduo de 0,7% do contingente em comparao com os dados de 2006.
A mudana demogrfica, proveniente da reduo da mortalidade, principalmente
para as populaes em que as pessoas tm idade mais avanada, causar aumento na presso
sobre os oramentos governamentais devido predominncia dos regimes de caixa nos sistemas
de seguridade social, sendo provvel que os cidados individualmente tenham de financiar uma
parcela cada vez maior de sua aposentadoria.
O exerccio pleno da cidadania exige preparao da populao para entendimento
adequado da questo previdenciria, tanto no seu contexto mais amplo, de interesse da economia
do pas, quanto naquele mais prximo, de interesse imediato, que trata dos direitos, deveres e
planejamento individual dos cidados.
O escopo do projeto educacional deve ser estabelecido mediante segmentao do
pblico-alvo, priorizando objetivos a serem progressivamente atingidos, medida que se
progrida na escala socioeconmica: os direitos do cidado atendidos pela previdncia social
oficial, a proteo populao de baixa renda, a insero do pequeno poupador no mercado
financeiro e, finalmente, sua preparao para entendimento das questes que a previdncia
complementar contempla, tais como produtos financeiros e critrios para sua escolha e avaliao.
Em relao ao regime geral, o Brasil deve se preocupar em divulgar as formas de
inscrio e contribuio para a previdncia, bem como seus benefcios, de modo que se incentive
que os desprotegidos venham obter cobertura previdenciria. Entre os fatores que ensejam aes
72
de educao previdenciria no setor de previdncia privada, destacam-se: carncia da cultura de
poupana de longo prazo; envelhecimento da populao; complexidade e especificidade dos
termos e conceitos relacionados ao setor; e tendncia na migrao dos planos de aposentadoria
da modalidade de benefcio definido para os planos de benefcios nas modalidades de
contribuio definida e mista. Nessas modalidades, exige-se dos participantes maior nmero de
deciso, em que se contempla o nvel de contribuio que ser vertida ao plano ao longo dos
anos, a idade de entrada em aposentadoria e a modalidade de recebimento da aposentadoria, se
em parcela nica, por perodo de tempo ou percentual do saldo de conta.
No mbito da previdncia complementar, devem ser envidados esforos para que
aqueles que percebem remunerao superior ao valor do teto do Regime Geral segundo a
PNAD 2006, so mais de 10 milhes de pessoas , planejem sua aposentadoria, de modo que
possam manter seu padro de rendimentos mesmo depois de se aposentarem.
2.7. Seguros
A busca por melhores condies de vida envolve, entre outros fatores, a
constituio de patrimnio e de renda familiar, que geralmente so acumulados em anos de
trabalho, mas que podem ser perdidos, de uma hora para outra, em virtude da exposio a riscos.
A necessidade de proteo contra o perigo, a incerteza quanto ao futuro e a possibilidade de
perda dos bens ou da receita da famlia e do indivduo levam as pessoas a buscar, no mercado de
seguros, formas de proteo.
No Brasil, a estabilizao do valor de compra da moeda, no final da dcada de 90,
e a significativa expanso dos programas governamentais de combate pobreza absoluta, na
dcada atual, tem acarretado incluso econmica e social de ponderveis parcelas da populao.
Em decorrncia desse processo de crescimento econmico continuado, mais e mais pessoas tm
73
aumento em seus rendimentos, com acesso s modalidades de crdito e expanso de seu
patrimnio.
Nesse contexto, em que a renda se amplia e apresenta perfil de distribuio mais
equnime, a possibilidade de preservao do patrimnio formado, a manuteno do fluxo de
renda aps o fim da atividade laboral e o recebimento de valor compensatrio para o caso de
morte ou invalidez permanente dos membros do grupo familiar so questes que passam a se
tornar cada vez mais relevantes para o cidado no processo de tomada de decises no campo
financeiro. Esse cenrio contribui para aumento dos consumidores de produtos do mercado de
seguros. Para que esses indivduos possam fazer escolhas adequadas e se proteger dos riscos e
infortnios a que esto expostos, torna-se cada vez mais relevante o papel da educao financeira
da populao.
O SNSP tem como rgo normatizador de suas atividades o CNSP, e como rgo
supervisor e fiscalizador a Susep, ambos situados na esfera de competncia do Ministrio da
Fazenda. Alm dos rgos citados, compem esse sistema as sociedades autorizadas a operar em
seguros privados, os resseguradores
18
e os corretores habilitados.
O funcionamento das sociedades seguradoras e resseguradoras est sujeito a prvia
autorizao governamental e o desenvolvimento de suas operaes se baseia no cumprimento de
vrias disposies legais e regulamentares, entre elas, regras de prudncia destinadas a manter a
higidez econmico-financeira, protegendo os interesses dos consumidores.
O corretor de seguros, pessoa fsica ou jurdica, o agente legalmente habilitado
para intermediar as relaes entre o segurado e a seguradora. O corretor exerce papel importante
nas relaes mantidas entre os contratantes. Compete a ele prover toda a assistncia ao segurado,
antes e durante a vigncia da aplice, prestando-lhe as informaes solicitadas.
18
Ressegurador aquele que aceita ou assume, em resseguro, o risco de seguro de um segurador ou de outra
companhia de resseguros.
74
No caso de aplices coletivas, por exemplo, as de seguro de vida em grupo, as de
acidentes pessoais e as de incndio em condomnio, a negociao feita entre o corretor de
seguros e o representante dos segurados (estipulante), os quais apresentam vnculo entre si
empresa, categoria profissional, condomnio ou outra forma. Nesses casos, cabe ao estipulante
fazer interlocuo entre o segurado e o corretor, e a este, a relao com a seguradora.
Dispondo de informaes adequadas e confiveis a respeito dos papis
desempenhados pelos vrios agentes do mercado de seguros, o consumidor ter acesso
estrutura em que encontram-se inseridas as operaes de seguros, podendo conhecer claramente
seus direitos e deveres.
O Cdigo Civil segmentou o mercado de seguros em seguros de danos e seguros
de pessoas. No segmento de danos so oferecidas modalidades de coberturas especficas que
podem atender s diversas necessidades de proteo. Ao adquirir uma residncia, o seguro
habitacional preserva as condies de solvncia do financiador e a manuteno da residncia
familiar na ocorrncia de eventuais infortnios do muturio; ao comprar um bem de consumo
durvel, alm do seguro vinculado ao financiamento da aquisio, existe o seguro de garantia
estendida, que possibilita mais tempo de proteo contra eventuais defeitos; para automveis, h
o seguro contra roubo ou outros danos ao veculo e o seguro contra danos causados a terceiros.
Entre os planos de seguros de pessoas com cobertura por risco, h o seguro
funeral, o de acidentes pessoais, o seguro educacional, o seguro viagem, o seguro prestamista, o
seguro de diria por internao hospitalar, o seguro desemprego (perda de renda), o seguro de
diria de incapacidade temporria e o seguro de perda de certificado de habilitao de vo.
Nos planos de seguros de pessoas com cobertura por sobrevivncia
(VGBL/VAGP/VRGP), o segurado pode optar pelo recebimento de renda mensal, que
calculada com base na poupana acumulada por ele. Esses produtos funcionam de modo
75
semelhante aos planos de previdncia complementar, havendo diferena apenas no tratamento
tributrio e, consequentemente, no pblico-alvo.
No Brasil, as classes menos favorecidas esto mais expostas a riscos em razo da
natureza de suas atividades e do ambiente em que vivem. Embora enfrentem riscos mltiplos,
essas pessoas tm pouqussima familiaridade com o seguro formal, desconhecendo a proteo
que lhes pode ser oferecida. Como opo, h o microsseguro, que se encontra na fronteira entre
os servios financeiros e a proteo social, incorporando elementos de ambos. O microsseguro
no um ramo ou modalidade especfica de seguro, porm tem como pblico-alvo especfico a
populao de baixa renda.
Com o objetivo de implementar aes para incentivar o acesso dessa faixa da
populao ao mecanismo formal de proteo vida e ao patrimnio, o CNSP, em abril de 2008,
instituiu a Comisso Consultiva de Microsseguros. Nessa linha, a Susep, a partir de junho de
2008, constituiu um grupo de trabalho cuja finalidade apresentar estudos relativos aos aspectos
tcnicos, legais e operacionais, visando o desenvolvimento do microsseguro no pas.
A grande diversidade de produtos e coberturas oferecidas no mercado de seguro
corrobora a importncia da implementao de aes especficas e continuadas de educao
financeira, buscando nivelar conhecimentos e informaes nesse mercado.
2.7.1. Cenrio
Em linhas gerais, o mercado segurador brasileiro constitui-se em setor de
atividade, que, em 2008, mobilizou arrecadao que ultrapassou R$67 bilhes em prmios
19
diretos, o que representou cerca de 2,3% do PIB nacional.
19
Prmio a soma em dinheiro, paga pelo segurado ao segurador, para que este assuma a responsabilidade de
determinado risco.
76
Nos ltimos anos, em ambiente de estabilidade econmica, o mercado de seguros
apresenta consistncia em seu crescimento. Registrou crescimento acumulado de 184%, entre
2002 e 2008, como resultado da forte expanso do segmento de seguros de pessoas e do bom
desempenho nos seguros de danos, conforme se mostra no Grfico 6, a seguir.
Grfico 6 - Evoluo da participao dos segmentos de danos e de pessoas no
mercado de seguros
16
18
20
23
25
28
32
13
8
18
20
25
31
36
-
5
10
15
20
25
30
35
40
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Seguros de Danos Seguros de Pessoas
Valores em Bilhes (R$)
Fonte: SUSEP
Quanto ao volume de prmios arrecadados, considerando-se ainda o perodo
comparativo de 2002 a 2008, destacou-se o desempenho do ramo de automveis, com
aproximadamente 15 bilhes de prmios arrecadados em 2008 e crescimento acumulado de 86%.
O ramo patrimonial, ao crescer 132%, manteve a segunda maior participao no segmento de
seguros de danos. J o Seguro Obrigatrio de Danos Pessoais Causados por Veculos
Automotores de Via Terrestre (DPVAT) manteve-se em terceiro lugar no segmento, registrando
crescimento acumulado de 233%.
77
O segmento de seguro de pessoas, que compreende as coberturas de risco e as
coberturas por sobrevivncia, tem experimentado razovel expanso em suas atividades. O
volume de prmios arrecadados nas coberturas de risco em 2003 foi de R$6,14 bilhes, passando
para R$12,01 bilhes em 2008. Verifica-se tambm rpido crescimento na arrecadao de
prmios nas coberturas por sobrevivncia (VGBL). O volume de prmios arrecadados em 2003
foi de R$7,04 bilhes, passando para R$23,53 bilhes em 2008.
2.7.2. Desafios para a educao financeira
O seguro tem uma peculiaridade que o diferencia dos demais produtos financeiros
disponveis no mercado. Ao se adquirir um seguro, o objetivo principal garantir a proteo aos
riscos a que se est exposto. Verifica-se no Brasil a existncia de no segurados, que deixam de
proteger sua vida ou seu patrimnio, e de segurados que ainda no conhecem bem os produtos
que adquirem. Isto pode ser explicado pelo alto grau de desconhecimento da terminologia
tcnica utilizada nesse segmento e de conceitos bsicos, como risco e mutualismo.
A educao financeira tem, ento, importante papel para esse segmento do
mercado, porque pode apresentar o seguro como ferramenta de proteo econmico-social para
as famlias e propiciar o aumento na compreenso, no somente a respeito dos produtos, mas
tambm dos direitos e obrigaes dos segurados. Alm disso, pode se tornar elemento
constitutivo da boa prtica regulatria, atenuando a assimetria de informaes, que caracteriza as
relaes comerciais entre sociedades seguradoras, corretores e segurados.
Os graus de conhecimento sobre seguros so diferentes nas vrias camadas da
populao e podem variar de acordo com a idade, a formao acadmica, a profisso e a renda.
Assim, um programa de educao financeira em seguros deve adaptar-se, de modo que se ajuste
adequadamente aos diferentes pblicos-alvo, alm de abordar permanentemente, entre outros, os
tpicos citados no anexo Programas Setoriais deste documento.
78
Os corretores, por j desempenharem funes de orientadores dos seus clientes,
devem ser objeto de aes especficas de educao financeira, podendo atuar como
multiplicadores.
O grande desafio da educao financeira em seguros ser proporcionar
populao melhor compreenso sobre as operaes de seguro, lidando, ao mesmo tempo, com a
grande diversidade de agentes atuantes nesse mercado, com a complexidade e as especificidades
dos produtos comercializados e com a crescente demanda por novas coberturas.
2.8. Capitalizao
A capitalizao uma modalidade de operao financeira que se desenvolveu de
modo particular no Brasil. Os consumidores so atrados para esse mercado devido a
participao em sorteios, com possibilidade de premiaes variadas. A operao clssica consiste
na compra de ttulo, com pagamento nico ou peridico, correspondente a um capital inicial.
Apartados os montantes destinados ao custeio do sorteio e do carregamento, o restante ser
objeto de aplicao financeira, sendo admitidos resgates parciais de acordo com condies
estipuladas. Durante o perodo de vigncia do ttulo, seu titular tem o direito de concorrer a um
ou a mais sorteios, conforme definido nas condies do ttulo, participando de um fundo comum,
formado pela quota de sorteio da srie.
Tanto a quota de capitalizao, quanto a quota de sorteio so aplicadas em ativos
financeiros, e os direitos inerentes ao ttulo so inteiramente cobertos por ativos garantidores.
Os ttulos de capitalizao, cujos prazos de vigncia no podero ser inferiores a
doze meses, podem ser de trs tipos: Pagamento nico (PU), que prev a realizao de nico
pagamento; Pagamentos Mensais (PM), que prev a realizao de um pagamento a cada ms de
79
vigncia; e Pagamentos Peridicos (PP), no qual no h correspondncia entre o nmero de
pagamentos e o nmero de meses de vigncia, sendo previsto mais de um pagamento.
O valor do ttulo de capitalizao composto de trs parcelas: a quota de
carregamento, que custeia as despesas e o lucro do emitente, uma sociedade de capitalizao; a
quota de capitalizao, que ser objeto de aplicao financeira; e a quota de sorteio, que propicia
realizao dos sorteios previstos nas condies do ttulo, no perodo de vigncia.
A Susep reconhece quatro modalidades de operao de capitalizao: a
tradicional, na qual se devolve, no mnimo, 100% do valor total dos pagamentos efetuados; a de
compra programada, similar tradicional, porm faculta-se o recebimento de um bem ou
servio, informado na ficha de cadastro; a popular, na qual no h devoluo integral dos valores
pagos, e o consumidor compra o ttulo para participar dos sorteios; e a de incentivo, semelhante
popular, porm o ttulo, ou o direito ao sorteio recebido gratuitamente quando o consumidor
adquire algum produto ou servio.
O Sistema Nacional de Capitalizao formado pelo CNSP, pela Susep, pelas
sociedades autorizadas a operar nesse segmento e pelos corretores de capitalizao. De acordo
com as resolues emanadas do CNSP, a Susep tem as atribuies de normatizar, fiscalizar e
supervisionar as operaes desse mercado.
2.8.1. Cenrio
O mercado de ttulos de capitalizao, atualmente operado por doze sociedades,
demonstra crescimento nos ltimos anos. De 2003 e 2008, verificou-se aumento de,
aproximadamente, 57% no faturamento desse mercado. Entre os fatores que tm contribudo
para esse crescimento, citam-se estabilidade econmica, multiplicidade dos canais de
distribuio, campanhas de marketing e capacidade de inovao financeira dos operadores. Em
2003 as receitas perfaziam o total de R$5,71 milhes e, em 2008, o total foi de R$8,99 milhes.
80
O volume de provises gerado pela colocao de ttulos de capitalizao
indicador de seu papel na composio da poupana financeira nacional. Em 2003, o total de
provises foi de R$8,22 milhes, e, em 2008, o total foi de R$ 13,45 milhes.
2.8.2. Desafios para a educao financeira
Pesquisa qualitativa realizada pelo Instituto Data Popular, em 2008, com o
objetivo de conhecer o grau de educao financeira da populao brasileira, revelou a noo
equivocada, por parte dos consumidores, de que os ttulos de capitalizao rendem mais que a
poupana, constatando-se que o sorteio aumenta a percepo de rendimento. Na pesquisa
quantitativa, em base de 575 respostas (base dos entrevistados que investem o dinheiro), 4% dos
entrevistados responderam que investem seu dinheiro em ttulos de capitalizao.
Sabendo-se que a rentabilidade dos ttulos de capitalizao difere da rentabilidade
de produtos de investimentos financeiros como CDB, fundos de investimento ou mesmo a
tradicional poupana, importante garantir que os consumidores tenham pleno acesso s
informaes relativas s formas de devoluo do capital investido, a fim de que estejam
habilitados a fazer escolhas conscientes dos custos e benefcios envolvidos na operao. Para
aquisio de um ttulo de capitalizao, importante que o consumidor detenha todas as
informaes necessrias a respeito desse produto.
A Educao Financeira em Capitalizao tem, ento, o grande desafio de levar,
populao, informaes, as mais completas e isentas possveis, sobre esses produtos, livres dos
apelos caractersticos das campanhas publicitrias. Deve abordar, permanentemente, os tpicos
listados no anexo Programas Setoriais deste documento, sem prejuzo de outros que venham a
surgir com a dinmica prpria das operaes do mercado de capitalizao.
81
2.9. Proteo e defesa do consumidor
O mercado de servios financeiros, caracterizado pela variedade e complexidade
de instrumentos, impe inmeros desafios para proteo e defesa dos consumidores. A oferta
desses servios ampliou-se significativamente, em razo da globalizao, da inovao
financeira, dos avanos tecnolgicos, dos novos canais de distribuio eletrnica e da integrao
dos mercados. Assim, os consumidores passam a ter a seu alcance novos e complexos
instrumentos financeiros, o que implica grande diversidade de custos, riscos, rendimentos e
prazos de vencimento. Isso dificulta sua compreenso sobre as caractersticas desses servios e
pode acarretar escolhas equivocadas do consumidor quanto aos que melhor se ajustam a suas
necessidades e a seus interesses econmicos. Essa complexidade reflete-se, igualmente, no
esquema contratual. Isso porque o consumidor, acostumado ao clssico contrato de compra e
venda, v-se imerso em relao trilateral de negcios conexos, como ser comentado adiante.
Nesse contexto de desinformao sobre os reais custos e riscos das operaes
financeiras, pode haver expectativas inadequadas dos consumidores acerca desses produtos,
gerando efeitos indesejveis na economia familiar e nacional. Muitos consumidores no tm
conhecimento ou no tm compreenso adequada sobre a natureza do compromisso ou dos
riscos que assumem ao contratar um servio financeiro. Ademais, eles desconhecem no apenas
a operao financeira, mas tambm seus direitos em relao aos servios a serem contratados.
Mesmo quando o consumidor conhece seus direitos, h altos custos de transao
para que ele busque o exerccio desses direitos. Entre esses custos, citam-se os de contratao de
advogados, custas processuais ou simplesmente o tempo gasto para tentativa de resoluo dos
problemas. Isso gera desestmulo para busca do acesso justia e explica por que o ndice de
reclamaes menor do que o nmero real de consumidores lesados no mercado de consumo.
82
Os consumidores de baixa renda so ainda mais fragilizados, tendo em vista que a
necessidade financeira pode lev-los a contratar crdito em condies bastante desfavorveis,
com altas taxas de juros. Assim, a probabilidade de endividamento maior, e a possibilidade de
pagamento das dvidas pode se tornar remota. Considera-se que essa parcela da populao,
alm de vulnervel, tambm hipossuficiente, por possuir caractersticas especficas que
aumentam a fragilidade.
A vulnerabilidade do consumidor de servios financeiros caracteriza-se tambm
pela agressividade da forma como esses servios so ofertados aos consumidores, uma vez que a
publicidade veiculada de modo que induza o consumidor a erro, mascarando os custos reais
daquela operao e levando o consumidor a adquirir o crdito sem reflexo sobre os seus efeitos.
Nesse sentido, agrava-se a situao do consumidor, que j no possui informaes suficientes
sobre a complexidade das operaes financeiras, desequilibrando mais essa relao.
2.9.1. Cenrio
Entre os diversos servios financeiros, o crdito um dos mais utilizados pelos
consumidores. Nas duas ltimas dcadas do sculo XX, houve enorme expanso do crdito para
o consumo, nas diferentes formas, como a hipoteca, o crdito pessoal, o leasing, entre outros.
20
Essa modalidade de crdito constitui o emprstimo destinado ao consumidor final para aquisio
de bens de consumo ou fornecimento de servios, isto , destinado a suas necessidades pessoais
ou familiares.
O endividamento decorrente do crdito tornou-se to comum na sociedade de
consumo, que se chegou a denomin-la de sociedade do endividamento
21
. O consumo de bens
20
RAMSAY, Iain. Consumer Protection. Text and Materials. Londres: Weidenfeld and Nicolson, 1989, p. 310.
21
MARQUES, Cludia Lima. Sugestes para Uma Lei sobre o Tratamento de Pessoas Fsicas em Contratos de
Crdito ao Consumo: proposies com base em pesquisa emprica de 100 casos no Rio Grande do Sul. In: Revista
83
e servios, essenciais ou no, passou a ser acompanhado, quase sempre, de uma operao de
crdito, alterando o antigo paradigma de produto/preo e compra/venda pelo paradigma
produto/crdito e compra e venda financiada
22
.
Assim, o esquema contratual clssico bilateral substitudo por relao trilateral
de negcios conexos, sem que o consumidor tenha conhecimento da complexidade dessas
operaes de crdito. O consumidor passa a desempenhar inmeros papis, de comprador,
investidor e depositante, ainda que no tenha conhecimento dos riscos que assume.
Ainda que o crdito constitua ferramenta fundamental para desenvolvimento das
modernas economias de mercado, ele pode acarretar consequncias desfavorveis para o
consumidor e para o mercado, caso sua concesso seja realizada de modo inadequado.
fundamental compreender e interpretar os servios financeiros sob a
perspectiva dos princpios do Cdigo de Proteo e Defesa do Consumidor, especialmente no
que tange ao princpio da vulnerabilidade do consumidor. Os servios financeiros, assim como
os demais servios remunerados, prestados de maneira habitual no mercado de consumo, esto
sujeitos aplicao do Cdigo de Proteo e Defesa do Consumidor, conforme prescreve seu
art. 3, 2
23
. Esse entendimento foi consolidado no julgamento da Ao Direta de
Inconstitucionalidade (Adin) n 2.591 pelo Supremo Tribunal Federal.
O Cdigo de Proteo e Defesa do Consumidor Lei n 8.078, de 11 de setembro
de 1990 foi promulgado por necessidade de regulao do mercado, visando equilibrar a
relao entre fornecedores e consumidores, por meio do estabelecimento de um regime civil
diferenciado para as relaes de consumo. Com o amplo debate ocorrido no perodo de
redemocratizao, o fundamento para aprovao do cdigo ficou estabelecido na Constituio
de Direito do Consumidor. Ano 14, julho-setembro de 2005, So Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005,
p. 11.
22
WEINGARTEN, Celia. Negocios Financiados y Endeudamiento del Consumidor. In: Revista de Direito do
Consumidor. Ano 16, n. 64, outubro-dezembro de 2007, So Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 204.
23
Art. 3, 2 Servio qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remunerao, inclusive as
de natureza bancria, financeira, de crdito e securitria, salvo as decorrentes das relaes de carter trabalhista.
84
Federal de 1988, que, em seu Ato das Disposies Transitrias, art. 48, determinou que o cdigo
seria elaborado no perodo de 120 dias aps a promulgao da Constituio. Ademais, a
Constituio identificou o consumidor como sujeito de direitos a ser protegido de forma especial
pela ao estatal, ao estabelecer o direito fundamental positivo de que o Estado promover, na
forma da lei, a defesa do consumidor (art. 5, XXXII). A Carta fundamental previu tambm a
defesa do consumidor como um dos princpios da ordem econmica livre e justa (art. 170, V).
O cdigo estabelece regime de proteo integral do consumidor, por meio da
Poltica Nacional de Relaes de Consumo, pautada no atendimento das necessidades dos
cidados, na proteo de sua dignidade, na defesa de seus interesses econmicos, na melhoria da
sua qualidade de vida, bem como na harmonia e na transparncia das relaes de
consumo (art. 4, caput).
Ademais, o cdigo estabelece princpios fundamentais, que devem nortear as
aes de todos os sujeitos das relaes de consumo, tais como reconhecimento da
vulnerabilidade do consumidor (art. 4, I), garantia de servios e produtos com padres de
qualidade, segurana, durabilidade e desempenho (art. 4, II, d), educao de consumidores e
fornecedores sobre seus direitos e deveres (art. 4, IV) e incentivo adoo de meios eficientes
de soluo de conflitos (art. 4, V). Pode-se citar tambm os importantes direitos bsicos
previstos no cdigo, como proteo da vida, da sade e da segurana (art. 6, I), educao e
divulgao sobre consumo adequado dos produtos e servios (art. 6, II), proteo contra
prticas abusivas (art. 6, IV), efetiva preveno e reparao de danos morais (art. 6, VI), bem
como o acesso aos rgos judicirios e administrativos para efetividade de seus
direitos (art. 6, VII).
O princpio da vulnerabilidade um dos mais relevantes entre os consagrados
pelo cdigo, pois consiste no reconhecimento do estado de risco e da fragilidade dos direitos do
sujeito inserido no mercado de consumo. Esse reconhecimento que torna o Cdigo de Proteo
85
e Defesa do Consumidor dotado de fora para estabelecer regime diferenciado para reequilibrar
os poderes na relao de consumo.
Se, por um lado, os servios financeiros constituem instrumento fundamental para
desenvolvimento das modernas economias de mercado, por outro, eles podem acarretar
consequncias severas para o consumidor e para o mercado, quando so massivamente ofertados
a consumidores sem informao sobre sua complexidade e seus riscos. Um desses efeitos o
superendividamento, que consiste na impossibilidade global de o devedor, pessoa fsica de boa-
-f, pagar todas as dvidas atuais e futuras
24
. Trata-se da situao em que o devedor se v
impossibilitado, de forma durvel ou estrutural, de pagar o conjunto das suas dvidas, ou mesmo
quando existe uma ameaa sria de que no o possa fazer no momento em que elas se tornem
exigveis
25
. Esse fenmeno no se refere a problema individual, nem de responsabilidade nica
e exclusiva do consumidor, mas de fenmeno social, de responsabilidade coletiva.
O superendividamento ocorre tanto em pases desenvolvidos, quanto em pases
em desenvolvimento. Pode ser ativo, causado por m administrao do oramento familiar, ou
passivo, causado por ocorrncia negativa inesperada. O superendividamento ativo ocorre quando
o consumidor contribui para a impossibilidade de adimplncia, isto , quando proveniente de
grande acumulao de dvidas, adquiridas de boa-f, no intuito de conservar determinado padro
de vida. J o superendividamento passivo decorre de fatos supervenientes na vida de uma pessoa
desemprego, reduo salarial, divrcio e outros , diminuindo sua renda de forma brutal, o que
ocasiona incapacidade de quitar as dvidas vencidas ou vincendas. Ressalta-se que, em ambos os
24
MARQUES, Cludia Lima. Sugestes para Uma Lei sobre o Tratamento de Pessoas Fsicas em Contratos de
Crdito ao Consumo: proposies com base em pesquisa emprica de 100 casos no Rio Grande do Sul. In: Revista
de Direito do Consumidor. Ano 14, julho-setembro de 2005, So Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005,
25
LEITO MARQUES, Maria Manuel et al. O endividamento dos consumidores. Lisboa: Almedina, 2000. p. 2.
86
casos, o devedor normalmente age de boa-f ao contrair obrigaes, que, em seu conjunto, no
podem ser quitadas
26
.
O superendividamento costuma agravar-se por instabilidade econmica, inflao e
elevadas taxas de juros, bem como por massificao do acesso ao crdito, privatizao dos
servios pblicos e publicidade agressiva do crdito popular.
2.9.2. Desafios para a educao financeira
O superendividamento, alm de ser grave problema social, prejudicial ao
mercado, por simbolizar a morte do homo economicus, retirando o consumidor do mercado,
diminuindo seu poder de compra e impedindo-o de realizar novos investimentos. Alm disso, o
superendividamento pode aumentar os custos do crdito e causar perda de confiana no mercado.
A complexidade desse fenmeno exige que a sociedade e o direito provejam
respostas justas e efetivas para sua soluo. As respostas podem ser elaboradas sob a perspectiva
ex ante (preventiva) e ex post (resolutiva). Quanto ao aspecto preventivo, a educao financeira
destaca-se como eficaz mecanismo de reduo da vulnerabilidade do consumidor, que torna
possvel prevenir as consequncias negativas da m utilizao dos servios financeiros e do
superendividamento. A Educao Financeira constitui instrumento que pode contribuir, de
forma significativa, para que os cidados ajustem suas decises de investimento e de consumo de
produtos financeiros ao seu perfil de risco, s suas necessidades e s suas expectativas.
Esse processo de educao deve propiciar aos cidados aquisio de dois tipos de
conhecimento fundamentais: i) sobre funcionamento, objetivos e riscos dos produtos financeiros;
e ii) sobre seus direitos na qualidade de consumidores de produtos financeiros, para que possam
26
MARQUES, Cludia Lima. Sugestes para Uma Lei sobre o Tratamento de Pessoas Fsicas em Contratos de
Crdito ao Consumo: proposies com base em pesquisa emprica de 100 casos no Rio Grande do Sul. In: Revista
de Direito do Consumidor. Ano 14, julho-setembro de 2005, So Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2005,
87
exercer esses direitos e cobrar seu cumprimento. Com essas medidas educativas, possvel
reforar at outras medidas governamentais voltadas para proteo dos consumidores, como a
regulao e a fiscalizao do mercado.
Tendo em vista que quase toda a populao, independente de idade, formao e
renda, encarrega-se da gesto pessoal de seus recursos, o processo de educao financeira deve
alcanar todos os cidados. Para ampliar a eficcia dessa interveno, possvel empreender
aes educativas especficas para cada segmento populacional, atendendo a seu grau de
formao e de acesso aos servios financeiros. Geralmente, os cidados acreditam deter mais
conhecimentos sobre finanas do que realmente possuem, fato bastante relevante, tendo em vista
que a populao somente poder extrair os benefcios da educao financeira se estiver
consciente da necessidade de aumentar seu conhecimento sobre o tema.
Em um modelo de mercado ideal, os contratos seriam formados de modo que se
assegurasse o equilbrio entre as partes, o consumidor teria plena conscincia dos termos e dos
custos do contrato, e no existiria presso ou prtica abusiva na concesso de crdito.
Entretanto, o que se percebe na prtica um mercado repleto de assimetrias, em que o poder e o
profissionalismo da instituio que oferece o servio financeiro se sobrepem vulnerabilidade
do consumidor, que visa adquirir produtos ou servios financeiros.
Para harmonia das relaes de consumo, importante o estabelecimento de
poltica global e integrada de educao financeira, que conte com a perspectiva e a participao
do consumidor. Afinal, o processo de educao consiste em construo conjunta e
compartilhamento de conceitos, o que ocorrer se houver participao ativa do seu beneficirio,
o consumidor. Assim a Educao Financeira poder servir como instrumento de cidadania,
incluso social, melhoria da vida do cidado e promoo da estabilidade do sistema
financeiro do pas.
88
SEO 3 PROPOSTA DE ATUAO
A proposta de atuao da Enef levou em conta a estrutura do Sistema Financeiro
Nacional, a extenso territorial do pas, o tamanho da populao, a diversidade cultural, as
diferenas sociais, as caractersticas do sistema educacional brasileiro, a multiplicidade de temas
vinculados educao financeira, alm da necessidade de se buscar a efetividade da estratgia
em curto, mdio e longo prazos, contemplando dois segmentos de pblico-alvo.
O primeiro, constitudo por crianas e jovens, ser atendido, principalmente, por
programas a serem desenvolvidos nas escolas de ensino fundamental e mdio, sob orientao do
Ministrio da Educao (MEC) e participao das Secretarias de Educao estaduais e
municipais. A atuao detalhada na Seo 3.1 se constitui em ao de carter amplo, sistemtico
e permanente, pois na escola, desde a mais tenra idade, que se comea a formar o adulto, o
cidado de amanh.
O segundo, constitudo por adultos, corresponde a expressiva parcela da
populao brasileira, que apresenta carncias significativas de informaes financeiras de toda a
ordem e em vrios planos de complexidade. nesse segmento que a efetiva realizao da Enef
se mostra premente, pois o adulto quem trabalha, lida com dinheiro, consome, poupa e investe.
A atuao com foco nesse pblico-alvo se encontra descrita na Seo 3.2.
Durante a elaborao da Enef, percebeu-se que seria invivel planejar e executar
essa estratgia apenas com apoio dos rgos que compem o Coremec. Restou claro que o grau
de articulao alcanado entre as diversas instncias de governo e a iniciativa privada,
destacando-se a cooperao entre os rgos supervisores do sistema financeiro e os responsveis
pelas polticas pblicas para a educao, deveria se conservar aps lanamento da Enef, a fim de
institucionalizar as parcerias que tornaro vivel a redao da proposta de atuao e o
estabelecimento da moldura em que se encaixaro novos parceiros, no futuro.
89
As necessidades de integrao e coordenao de esforos indicam constituio de
uma estrutura de governana de propsito especfico, observadas as diretrizes, por se tratar de
programa de Estado, de carter permanente, que concilie a execuo descentralizada com a
gesto centralizada.
Para efetiva gesto e acompanhamento da implementao das aes da Enef, foi
formulada uma estrutura de governana, que ser apresentada na Seo 4. Nessa estrutura, est
prevista a parceria com uma entidade coordenadora, que dever centralizar as informaes das
aes da Enef, subsidiar as decises de reviso da estratgia e organizar as aes que visam
atingir os dois segmentos de pblico-alvo. Ressalta-se que a competncia para definio das
polticas regulatrias e dos programas de educao financeira de cada rgo regulador no se
altera pela introduo da Enef.
A Enef compreende os programas e aes executados pela entidade coordenadora,
por entidades pblicas e privadas que aderirem a ela e pelos rgos governamentais, conforme
sua responsabilidade pela regulao e pela superviso de cada mercado, financeiro, de capitais,
de previdncia complementar, de seguros e de capitalizao.
Para identificar as aes integrantes da estratgia, ser concedido selo de
reconhecimento quelas entidades que estiverem de acordo com suas diretrizes e objetivos.
Apenas aes gratuitas, para o usurio final, podero receber tal marca identificadora. Critrios
para adeso so necessrios para evitar que esforos de venda ou de recomendao de produtos
sejam realizados ao abrigo da Enef. A perda das caractersticas que autorizaram a insero da
ao na Enef determinar a revogao do direito de uso do selo.
As aes da Enef no podem veicular informaes ou orientaes que colidam
com as polticas regulatrias definidas pelas autoridades competentes de cada segmento.
Portanto, para que uma ao receba e mantenha o selo Enef, deve ser coerente e compatvel,
tambm, com os princpios e as normas que orientam o respectivo mercado. O poder de veto, no
90
mbito da Enef, deve ser assegurado aos rgos do Coremec, quanto a proposies que veiculem
informaes incorretas, estimulem comportamentos do consumidor que sejam contrrios aos
objetivos das suas polticas regulatrias e de superviso ou conflitem com iniciativas j
consolidadas do respectivo rgo ou entidade reguladora.
O selo Enef poder ser aposto no material didtico ou de divulgao, em material
impresso ou na internet. Acredita-se que a utilizao de uma marca ser uma forma de fomentar
a participao de mais entidades pblicas e privadas na execuo e na disseminao da Enef.
Considerando a diretriz de execuo descentralizada, a entidade coordenadora da
Enef dever firmar parcerias com rgos e entidades da administrao pblica, direta ou indireta,
com entidades privadas, sindicatos, associaes de classe e organizaes da sociedade civil, de
modo que as aes e materiais por ela elaborados possam ser aplicados por todos os interessados
em disseminar a Educao Financeira.
A entidade coordenadora dever se ocupar de aes que visem a alcanar os dois
segmentos de pblico-alvo, algumas delas descritas nos pargrafos subsequentes.
Deve-se levar em conta que muitos programas de educao financeira j so
realizados no Brasil. Com o objetivo de racionalizar esforos, reduzir custos e evitar duplicidade
de aes, a entidade coordenadora ou os rgos participantes devem buscar, nos programas j
existentes, material, contedo e metodologias de sucesso, incentivando suas iniciativas e
aproveitando-as em novos programas.
imprescindvel que as aes no mbito da Enef tenham uniformidade quanto a
conceitos, princpios e diretrizes.
Durante a elaborao da Enef, foi realizado o inventrio nacional de aes
gratuitas de Educao Financeira existentes no pas. Ser necessrio avaliar detalhadamente cada
uma das aes cadastradas no portal <www.vidaedinheiro.gov.br>, comentadas no documento
anexo, objetivando selecionar aquelas que possam integrar a Enef.
91
Considerando-se o potencial da internet no processo de gesto e execuo da
Enef, ser necessrio que o portal mencionado seja transformado em portal de referncia da
estratgia, administrado permanentemente com esse enfoque, que incorpore, progressivamente,
melhoramentos, contedos e referncias a outros portais relacionados a educao financeira.
Visando sensibilizao e ao alcance do maior nmero de pessoas possvel,
devero ser promovidas campanhas publicitrias. Essa ferramenta deve ser de uso regular,
desenvolvida para divulgar a Enef, bem como para informar e orientar a populao sobre temas
considerados relevantes.
Para efetiva implementao da Enef, as aes sero custeadas com recursos
pblicos e privados. Quanto aos recursos pblicos, os valores estaro alocados nos oramentos
das entidades integrantes do Coremec ou de outros rgos pblicos. Com referncia aos recursos
privados, a constituio da entidade coordenadora prev participao da iniciativa privada tanto
na manuteno de suas atividades quanto no financiamento de aes. Alm disso, a entidade
coordenadora poder firmar parcerias com empresas e obter financiamento de organismos
internacionais voltados para desenvolvimento de aes especficas.
A fim de acompanhar o desempenho das aes da Enef e o alcance de seus
objetivos, dever ser elaborado um sistema integrado de monitoramento e avaliao da Enef e
das aes isoladamente. O processo contnuo e amplo de avaliao requer realizao de
avaliaes diversas em momentos distintos.
O processo de avaliao dever abordar, alm da eficincia e da eficcia, a sua
efetividade, pois uma forma objetiva de se analisar se a ao produziu, de fato, alguma
mudana duradoura de comportamento.
O controle e a avaliao ainda carecem de ferramentas e metodologias
consolidadas, sendo, na verdade, preocupao dos vrios pases que desenvolvem estratgias
nacionais ou mesmo aes especficas de educao financeira. Esto sendo feitos estudos pela
92
OCDE e pelo Banco Mundial, que devem ser considerados na construo do modelo
de avaliao e acompanhamento dos programas de Educao Financeira realizados no
mbito da Enef.
A principal dificuldade para elaborao de metodologia de avaliao decorre do
fato de que a efetividade da educao financeira somente perceptvel com mudana de
comportamento ou atitude em relao ao uso do dinheiro e aos hbitos de consumo, que somente
mensurvel em mdio e longo prazo, por meio de efetivo e sistemtico acompanhamento de
grupos de controle.
No obstante, dever ser desenvolvido modelo de monitoramento e avaliao,
com foco no s na implementao, como tambm nos resultados para cada uma das aes da
Enef. Alm disso, os programas devem ser formulados e implementados de forma que sejam
passveis de avaliao referente aos resultados, sempre que possvel com base em
dados experimentais.
Os seguintes itens devem ser considerados na elaborao da metodologia
de avaliao:
a) especificar claramente os resultados e objetivos a serem alcanados em curto, mdio e longo
prazo;
b) selecionar indicadores de monitoramento e avaliao tanto de implementao como de
resultados. Esses indicadores devem ser claros, medir adequadamente os resultados, estar
disponveis por custo razovel e ser passveis de validao de forma independente;
c) estabelecer uma linha de base, ou seja, medir o estgio dos indicadores antes da
implementao da ao ou do programa;
d) estabelecer datas para atendimento das metas e dos objetivos;
93
e) coletar dados e calcular indicadores frequentemente, para avaliar se as metas esto sendo
atingidas. Essas medidas devem ser estveis no tempo e no espao de modo que possam ser
comparveis;
f) analisar os resultados para verificar se as metas e os objetivos esto sendo atingidos, checando
at se os recursos esto sendo movimentados de forma eficiente;
g) planejar aes de correo para que as metas e os objetivos sejam atingidos.
Deve ser realizada tambm, avaliao de impacto, que vise medir se a alterao
nos indicadores tem realmente causa no projeto implementado. Grupos de controle podem
fornecer dados que permitam concluir que os impactos esto sendo gerados pelo programa, e no
por outros fatores externos.
A entidade coordenadora da Enef dever basear-se em mtodos bem-sucedidos de
avaliao e modelos utilizados em outros programas de educao financeira do mundo, de modo
que seja possvel, no futuro, comparar a evoluo da educao financeira no Brasil com a de
programas de outros pases.
Considerando que diversos pases realizam pesquisas sobre o grau de educao
financeira da populao, e que diversos organismos internacionais, como o Banco Mundial e a
OCDE, por meio da rede internacional de educao financeira, desenvolvem pesquisas para
definir padres que possibilitem comparao dessa varivel, no mbito internacional, a entidade
gestora dever acompanhar esses estudos e desenvolver metodologia adequada para mensurao
do impacto da Enef na populao. A pesquisa nacional realizada em 2008 dever ser aproveitada
e aperfeioada, a fim de traar uma linha de base adequada e representativa de nossa sociedade.
94
3.1. Educao financeira nas escolas
Temos um fato: a educao financeira no trabalhada na formao de crianas e
jovens brasileiros, seja na escola, seja em casa. Um dos propsitos da Enef nas escolas, portanto,
educar crianas e adolescentes para lidar no s com o dinheiro, mas tambm para planejar sua
trajetria de vida e se preparar, de forma segura, para oscilaes econmicas, independentemente
de possuir pouco ou muito recurso financeiro para sua manuteno. Alguns possuem, por
exemplo, telefones celulares desde pequenos, que, mesmo no caso dos pr-pagos, requerem
controle e disciplina. Ainda assim, muitos gastam em excesso e sem necessidade. Outros
exemplos so o crescente nmero de jovens endividados por adquirirem produtos com uso de
crdito pessoal, que cobra juros altssimos, e os produtos financeiros oferecidos aos adolescentes
assim que ingressam no ensino superior, tais como contas bancrias e cartes de crdito. Enfim,
os adolescentes do mundo contemporneo tm mais acesso aos instrumentos financeiros do que
seus pais possuram e, por isso, necessitam adquirir competncias mais complexas do que as
demandadas para as geraes anteriores.
H, no entanto, movimento global a favor da educao financeira. Segundo
levantamentos realizados pela OCDE, alguns pases j adotaram a educao financeira como
tema a ser trabalhado nas escolas. O relatrio Financial Education Programmes in Schools:
analysis of selected current programmes and literature, elaborado pela OCDE, mostra que existe
grande variedade de programas, muitos lanados recentemente, sendo a maioria inovadora e
cuidadosamente concebida para que o pblico considere o tema estimulante.
A educao financeira requer estratgias que modifiquem hbitos arraigados.
Mudanas de comportamento, geralmente, so conquistadas em longo prazo, por meio de
educao efetiva. Portanto, as aes propostas a seguir buscam atingir esse objetivo, reforando
a necessidade de que a educao financeira seja trabalhada desde cedo.
95
3.1.1. Plano estratgico para insero da educao financeira nas escolas
Para implementar a educao financeira nas escolas de maneira eficiente, efetiva,
tecnicamente correta e pedagogicamente adequada, considerando o ordenamento aplicvel aos
diferentes sistemas de ensino (federal, estadual e municipal), houve necessidade de eleger os
conceitos que deveriam ser selecionados, na perspectiva da capacidade da criana e do jovem de
apreender um tema que, por natureza, complexo. A forma de abordagem adquire especial
relevncia, bem como a conscientizao coletiva (professores, educadores, diretores de escola,
autoridades e entidades representativas do setor educacional) sobre a importncia do tema, tanto
quanto as informaes, o conhecimento e as ferramentas que sero desenvolvidas.
Nesse sentido, apresenta-se, a seguir, histrico do que foi realizado at
apresentao deste documento, alm de planejamento das aes para levar a educao financeira
s escolas. Tais aes so apresentadas com a seguinte estrutura: ao, pblico-alvo e forma de
atuao, sendo que um mesmo pblico poder ser abordado em uma ou mais aes, com
propsitos distintos. A sequncia na qual as aes foram descritas neste documento no reflete,
necessariamente, a ordem em que sero implementadas, e determinadas aes devero
ocorrer simultaneamente.
Diferentemente de algumas estratgias nacionais de educao financeira
desenvolvidas por outros pases, a Enef envolveu, em sua concepo, educadores, instituies
pblicas de ensino (Centro Federal de Educao Tecnolgica do Rio de Janeiro Cefet/RJ e
Colgio Pedro II) e entidades representativas do setor educacional (Conselho Nacional de
Secretrios de Educao Consed e Unio Nacional dos Dirigentes Municipais de Educao
Undime) e financeiro, alm dos rgos integrantes do Coremec, tendo trabalhado em estreita
colaborao com o MEC, por meio da Secretaria de Educao Continuada, Alfabetizao e
Diversidade (Secad), principalmente, para pensar e construir a forma mais adequada para levar o
tema s escolas.
96
O sistema educacional brasileiro, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases, confere
autonomia aos estabelecimentos de ensino para elaborar e executar propostas pedaggicas, e aos
docentes para elaborar e cumprir plano de trabalho de acordo com a proposta pedaggica
definida pela escola, sempre respeitadas as normas comuns e do seu sistema de ensino. Segundo
essa lei, cabe ao governo federal coordenar da poltica nacional de Educao, articulando os
diferentes nveis e sistemas e executando funo normativa, redistributiva e supletiva s demais
instncias educacionais.
Considerando a estrutura do sistema educacional, a autonomia das escolas e dos
educadores nas definies de propostas pedaggicas, bem como o papel da Unio na
coordenao da poltica nacional de educao, foi constitudo o Grupo de Apoio Pedaggico
(GAP) para elaborar o documento que apresenta modelo conceitual para levar a Educao
Financeira s escolas. O trabalho foi realizado sob orientao e superviso do MEC. O
documento Orientaes para Educao Financeira nas Escolas, anexo, apresenta um conjunto de
princpios que devem nortear as aes necessrias para se atingir situao futura desejada, tendo
por objetivo formar para a cidadania. Para tanto, o GAP foi exposto a uma srie de temas
financeiros, que deram suporte ao seu desenvolvimento.
O documento prope que o assunto seja tratado como tema relevante inserido nas
diversas reas de conhecimento. Alm disso, essa abordagem permite que os conceitos de
educao financeira sejam priorizados e contextualizados de acordo com a realidade local e
regional, o que deve ser considerado, uma vez que se trata de um pas com dimenses
continentais como o Brasil, onde a pluralidade cultural uma das principais caractersticas.
Portanto, a principal caracterstica do documento a flexibilidade, para permitir sua adaptao
aos contextos escolares.
A elaborao deste documento foi uma das tarefas mais importantes, pois hoje as
escolas e os professores que tiverem interesse em abordar o tema j encontram subsdios para
97
inclu-lo em suas propostas poltico-pedaggicas. No entanto, para que a educao financeira nas
escolas seja implementada de maneira uniforme e eficiente, e para que os resultados possam ser
monitorados, foi desenvolvido um plano de aes que engloba formao de professores,
apresentado a seguir. Neste plano, sero descritas aes que de fato colocaro a educao
financeira em prtica nas escolas, entre elas, a realizao de um projeto piloto que envolver,
entre outros estabelecimentos de ensino, escolas que participam do Programa mais Educao,
que uma das metas do Programa de Desenvolvimento da Educao (PDE) do MEC. Esse piloto
possibilitar a percepo dos fatores crticos de sucesso da proposta, alm de identificar pontos a
serem aprimorados e de permitir expanso eficiente da educao financeira nas escolas.
Em 2009, pretende-se que sejam validadas as situaes didticas, o plano
pedaggico e o plano de avaliao para o projeto piloto.
3.1.2. Plano de ao
a) Campanha para sensibilizao dos pblicos envolvidos com educao e com
a comunidade escolar
Todos aqueles que esto envolvidos com a educao de crianas e adolescentes,
sejam as escolas, sejam as comunidades no entorno das instituies de ensino, devem ser
conscientizados sobre a importncia da educao financeira e sobre os benefcios que pode trazer
para melhoria de qualidade de vida. Para atender a esse fim e divulgar oficialmente a Enef,
prope-se o desenvolvimento de uma campanha de comunicao, que englobar aes
direcionadas a toda a sociedade, Secretarias de Educao estaduais e municipais, educadores e
estabelecimentos de ensino. Devido ao alcance que o tema deve ter, a campanha ser nacional e
far uso das aes detalhadas a seguir.
98
Ao Campanha publicitria de sensibilizao.
Pblico Sociedade, pais e educandos.
Forma de atuao A campanha ser realizada por intermdio de agncia de publicidade, que
auxiliar na definio do conceito, da mensagem, do tom da comunicao
dirigida sociedade, aos pais e aos educandos, com o objetivo de
conscientiz-los sobre a importncia da educao financeira.
Ao Iniciativas de comunicao voltadas a profissionais da rea de
Educao.
Pblico Educadores e gestores dos sistemas de ensino pblico, das escolas
privadas, das associaes e dos Conselhos de Educao.
Forma de atuao A proposta da ao levar a Enef ao conhecimento dos pblicos
envolvidos com educao, por meio de canais especficos.
Prope-se participao anual em fruns da Undime e do Consed, bem
como em seminrios, feiras e congressos voltados educao, com
possibilidade de explanao, em linhas gerais, sobre estrutura,
organizao, objetivos e resultados da Enef.
Devem ser veiculados anncios em revistas voltadas para o segmento
educacional, com os propsitos de divulgar a Enef e de indicar onde os
interessados podem obter mais informaes. Alm dessas iniciativas,
prope-se elaborar e distribuir, por mala-direta e e-mail marketing,
materiais informativos que explicaro a Enef em linhas gerais e tero como
principal objetivo indicar os prximos passos a serem adotados pelas
escolas que tiverem interesse em inserir a educao financeira em sua
proposta pedaggica.
99
Histrico A primeira ao realizada com esse objetivo foi o seminrio Brasil:
Educao Financeira na escola, que ocorreu em 23 de setembro de 2008,
das 8h s 18h, no Edifcio-Sede do Banco Central, em Braslia. O evento
reuniu participantes do Coremec e de entidades que atuaram como
membros auxiliares na construo da Enef, alm de representantes de
entidades internacionais que relataram suas experincias e expuseram as
aes desenvolvidas para implementao da educao financeira nas
escolas.
b) Formao de professores
Os professores sero multiplicadores dos conceitos de educao financeira para
seus alunos. Portanto, para que possam transmitir adequadamente esses conceitos, essencial
que entendam a importncia em controlar as finanas e que prevejam os resultados benficos que
essa atitude poder trazer em curto, mdio e longo prazo, tanto para o indivduo como para a
sociedade. Dessa forma, podero estimular a abordagem do tema no ambiente escolar.
O documento elaborado pelo GAP prope dilogo entre a educao financeira e as
reas de conhecimento, relacionando os contedos a serem abordados. No entanto, para que os
conceitos cheguem aos professores, de forma que se haja segurana e coeso na elaborao
de um plano de trabalho sobre a educao financeira, foram planejadas aes para formao
de professores.
Ao Desenvolver recursos didticos para capacitao distncia.
Pblico Profissionais da Educao Bsica.
100
Forma de atuao Sero distribudos materiais e recursos didticos na forma de kits, para
auxiliar o entendimento e a disseminao dos conceitos de educao
financeira.
O kit ser composto por:
- curso de Educao Financeira, que abordar seus principais conceitos e
que servir como ferramenta de ensino e apoio e explicar aos professores
como atitudes simples, adotadas corretamente no dia a dia, podem resultar
em mudanas significativas na vida de um cidado, bem como na
sociedade na qual est inserido. Ao final do curso, o docente passar por
avaliao e receber certificado para enriquecer seu currculo;
- folheto que explicar a importncia da educao financeira para pleno
exerccio da cidadania;
- documento estratgico produzido pelo GAP como subsdio para
insero da educao financeira nas escolas;
- orientaes de como elaborar plano de trabalho sobre educao
financeira, uma vez que cada professor desenvolver os planos de acordo
com as propostas pedaggicas definidas pelas instituies de ensino nas
quais atuam.
Ao Instituir grupos tutoriais.
Pblico Profissionais da Educao Bsica.
Forma de atuao Sero constitudos grupos tutoriais, compostos por pedagogos e
profissionais da rea de Educao, que acompanharo todas as atividades
realizadas para capacitao de professores. Os grupos devero acompanhar
a realizao do curso pelos professores cadastrados, bem como os
101
processos de avaliao qualitativa e quantitativa. Os grupos sero
responsveis tambm pelo recebimento e pelas respostas de dvidas sobre
conceitos de educao financeira e pela forma de elaborar proposta
pedaggica ou plano de trabalho para insero da educao financeira na
escola. Ser avaliado o nmero de professores interessados por localidade,
para se definir a quantidade de grupos, bem como a abrangncia de cada
um, que poder ser municipal, intermunicipal, estadual, distrital,
interestadual ou federal. Seguindo os mesmos critrios de demanda e
tamanho das localidades, poder ser constitudo mais de um grupo por rea
de atuao. Para tornar viveis os grupos tutoriais, devero ser
consideradas as redes existentes de formao a distncia, como a
Universidade Aberta do Brasil.
Ao Constituir frum virtual para troca de informaes entre os
profissionais da rea de Educao e os grupos tutoriais.
Pblico Profissionais da Educao Bsica.
Forma de atuao Para facilitar o contato entre os professores em processo de capacitao e
os grupos tutoriais, dever ser constitudo frum de discusso no portal na
internet da Enef, <www.vidaedinheiro.gov.br>. A responsabilidade pelo
acompanhamento do frum ser dos grupos tutoriais, que identificaro
dvidas frequentes, tpicos de melhoria, bem como colocaro em pauta, de
forma peridica, novos temas para discusso. Alm de promover troca de
informaes, o frum ser importante para avaliao dos materiais e cursos
de capacitao desenvolvidos, do andamento dos processos de formao e
de identificao dos pontos a serem aprimorados.
102
Ao Incentivar a formao continuada de professores, abordando a
temtica da educao financeira.
Pblico Profissionais da rea de Educao.
Forma de atuao Articulao com o MEC/Capes para implementao de cursos, por meio de
programas existentes, que possibilitem aos profissionais da Educao
desenvolver pesquisas que abordem a temtica de educao financeira;
articulao com as Instituies Federais de Ensino Superior (Ifes), por
intermdio de seus fruns, para propor insero do tema educao
financeira nos cursos de licenciatura, extenso, especializao
e ps-graduao.
c) Aes de implementao
Alm de haver plano slido para formao de professores, para que a Enef traga
os resultados esperados, necessrio prever aes de implementao bem estruturadas, com
envolvimento do pblico-chave, que possibilitem suporte e acompanhamento constante nos
mbitos municipal, estadual, distrital e federal e identificao de pontos a serem aprimorados.
Ao Instituir equipes de relacionamento
Pblico Educadores, diretores de estabelecimentos de ensino e gestores das
Secretarias estaduais e municipais.
Forma de atuao As equipes sero responsveis pelo relacionamento com os gestores de
estabelecimentos de ensino e apoiaro, no que for necessrio, na
implementao da educao financeira, por exemplo, fornecendo indicao
de como atender aos programas de formao de professores, auxiliando na
103
distribuio dos kits de capacitao, atendendo a possveis dvidas dos
interessados acerca da implementao e divulgando as melhores prticas
implementadas em cada localidade. As equipes de relacionamento sero o
canal de comunicao com os estabelecimentos de ensino.
Para formao das equipes, sero consideradas metas de implementao
por regio e quantidade de estabelecimentos de ensino, que estaro sob a
responsabilidade de cada equipe de relacionamento. Tambm com base
nessas informaes, ser definida a atuao de cada equipe constituda,
que poder ser municipal, intermunicipal, estadual, distrital ou federal. As
equipes de relacionamento devero contar com participao de pessoas que
tenham fcil acesso aos estabelecimentos de ensino e podero ser formadas
por professores, pedagogos, integrantes das Secretarias de Educao
estaduais e municipais, de acordo com critrios estabelecidos.
Ao Distribuir os kits de capacitao de professores.
Pblico Profissionais da Educao Bsica.
Forma de atuao Todo o material desenvolvido para capacitao de professores, citado na
alnea b deste captulo, estar disponvel no portal da internet da Enef
<www.vidaedinheiro.gov.br> e em material fsico que ser distribudo s
Secretarias de Educao estaduais e municipais e s equipes de
relacionamento, que auxiliaro na entrega do material para as escolas. Para
acesso ao kit e ao curso por meio do site da Enef, ser necessrio
cadastramento das instituies de ensino e dos docentes para liberao de
login e senha. Esse recurso possibilitar acompanhar o andamento dos
trabalhos dos professores. O cadastramento ser feito tambm por aquelas
104
escolas que retirarem o material fsico nas coordenadorias e nas diretorias
de ensino, ou pelas equipes de relacionamento.
Sempre que houver necessidade, os contedos dos materiais e dos cursos
de formao sero atualizados.
Ao Firmar parcerias com autores e editoras que desenvolvem
materiais didticos.
Pblico Autores e editoras que desenvolvem materiais didticos.
Forma de atuao Propor aos autores e s editoras que elaboram e produzem materiais
didticos a insero da educao financeira em seus contedos, de acordo
com a estratgia estabelecida no documento (Orientaes para a Educao
Financeira nas Escolas) elaborado pelo GAP.
Ao Desenvolvimento de projeto piloto.
Pblico MEC, Secretarias de Educao estaduais e municipais e estabelecimentos
de ensino.
Forma de atuao Para avaliar a efetividade das aes de formao de professores e de
implementao da educao financeira nas escolas e para identificar se
elas traro os resultados esperados e se evidenciaro os pontos que devem
ser aprimorados, prope-se realizao de projeto piloto antes de ampliar a
Enef para todo o pas. A quantidade de escolas que participaro do piloto
dever refletir a realidade do Brasil, envolvendo estabelecimentos de
ensino pblicos e privados.
Uma das propostas para que o tema educao financeira faa parte do
ambiente escolar ser a insero deste no Programa mais Educao, no
macrocampo denominado Educao Econmica e Cidadania. As escolas
105
selecionadas que optarem por esse macrocampo recebero kits de materiais
para desenvolverem suas atividades.
Em 2009 prev-se ao para sensibilizar os diretores das escolas, que
podero selecionar esse macrocampo.
O projeto piloto ser realizado de forma gradativa. Em 2009, o material
produzido para utilizao nas escolas ser aplicado em pequenos grupos
para validao. O material aprovado, que contemplar as alteraes
identificadas como necessrias de acordo com os critrios de avaliao
estabelecidos, ser aplicado em amostragem maior em 2010. Para
percepo dos resultados alcanados, sero comparados grupos que
tiveram acesso ao material com aqueles que no foram submetidos ao
contedo de educao financeira.
Ao longo de 2009 e no incio de 2010, sero envidados esforos para
instituir sistema de monitoramento contnuo e de avaliao, previamente
ao lanamento do projeto piloto. Tal sistema dever se basear em
resultados, com utilizao de grupos de controle por seleo randmica.
Instituies com expertise em avaliao de projetos, como o Banco
Mundial e a OCDE, podero ser contatadas para apoiar, tecnicamente, o
desenvolvimento da metodologia a ser utilizada.
A avaliao dever permitir mensurao dos produtos, efeitos e impactos
do programa na consecuo de seus objetivos, de curto, mdio e longo
prazo, com uma linha de base previamente estabelecida. Os objetivos, a
serem definidos de forma objetiva, podero ser: aquisio de
conhecimento e desenvolvimento de habilidades, de curto e mdio prazo, e
mudana comportamental, de longo prazo (por exemplo, utilizao efetiva
106
dos conhecimentos e habilidades adquiridas em situaes de vida). O
sistema deve permitir, ainda, avaliao da eficincia na utilizao dos
recursos, do custo-benefcio da interveno e da casualidade.
Ao Estabelecer ferramentas para promover troca de informaes entre os
profissionais da Educao participantes do piloto.
Pblico Profissionais da Educao Bsica que participarem do piloto.
Forma de atuao Para essa fase de implementao, a proposta a constituio de um frum
no site oficial da Enef, para promover troca de experincias entre
professores participantes do piloto, que podero informar aes que
produziram melhores resultados, aquelas cujo desempenho no foi to
positivo quanto se esperava, o motivo dos resultados pouco satisfatrios e
a opinio dos docentes nesse processo, bem como o retorno obtido por
parte dos alunos. Outras ferramentas para promover a troca de informaes
entre professores sero propostas adiante, no detalhamento das aes de
expanso da Enef, que ocorrero aps realizao do piloto.
d) Aes de expanso da Enef
Aps implementao da Enef por meio do piloto, considerando as experincias
adquiridas e feitos os aprimoramentos necessrios, ser desenvolvido um trabalho de expanso
para implementao da estratgia em outros estabelecimentos de ensino do pas. As aes que se
comprovarem eficazes por meio do piloto tero continuidade nessa etapa. Alm disso, novas
aes sero propostas.
107
Ao Implementar a educao financeira em Secretarias de Educao
estaduais e municipais e estabelecimentos de ensino interessados.
Pblico Secretarias de Educao e estabelecimentos de ensino.
Forma de atuao Secretarias de Educao estaduais e municipais e estabelecimentos de
ensino que no participaram do piloto e tiverem interesse em inserir a
educao financeira em suas propostas pedaggicas recebero as
orientaes necessrias por meio do site oficial da Enef e das equipes de
relacionamento atuantes na regio.
Ao Ampliar as aes utilizadas no projeto piloto e adotar outras para
promover a troca de informaes entre os profissionais da Educao
que aderirem educao financeira nas escolas.
Pblico Profissionais da Educao Bsica que aderirem educao financeira
nas escolas.
Forma de atuao A proposta que o frum constitudo para troca de informaes entre os
professores durante o piloto se torne permanente e seja aberto a todas as
escolas que aderirem Enef.
Alm disso, devem ser promovidos encontros anuais por meio do frum
permanente entre escolas, com o intuito de reunir professores que
implementarem a educao financeira para apresentao de casos e
oferecer oportunidades para troca de experincias, bem como estimular a
implementao do tema por outros estabelecimentos de ensino e por outros
docentes. Prope-se apresentao de alguns exemplos de sucesso
implementados nas escolas e os principais resultados obtidos pela Enef.
108
Outra proposta realizar concursos entre escolas, professores e alunos
sobre educao financeira, como mais uma forma de incentivar, divulgar e
avaliar os trabalhos desenvolvidos.
Ao Reconhecimento das Secretarias de Educao e dos estabelecimentos
de ensino e dos professores que adotarem a Enef.
Pblico Secretarias de Educao estaduais e municipais e estabelecimentos de
ensino pblicos e privados de todo o pas.
Forma de atuao Fornecer reconhecimento s Secretarias de Educao estaduais e
municipais, bem como aos estabelecimentos de ensino e aos professores
que adotarem a educao financeira nas escolas, como forma de estmulo e
exemplo a outras instituies e docentes.
Para tornar as aes mais atrativas participao, a Enef prev concesso
de um selo de reconhecimento aos estabelecimentos de ensino que
inserirem a educao financeira em suas propostas pedaggicas e tiverem
comprometimento de continuidade, acompanhamento e mensurao
efetivos. O selo poder ser exibido em seus materiais informativos e
promocionais, impressos ou eletrnicos. Para obter o selo, a instituio
dever cumprir determinados critrios preestabelecidos, mas consideraro
o compromisso de continuidade e acompanhamento das aes e a
avaliao de seus resultados.
Com a concesso do selo, ser possvel manter um cadastro com o nome
das escolas que adotaram a educao financeira nas escolas e das aes
que esto desenvolvendo.
109
Os professores que adotarem a Enef, seguirem os critrios estabelecidos e
forem bem avaliados por seu desempenho sero agraciados com prmios
que sero definidos oportunamente.
Alm do selo de reconhecimento para as escolas que adotarem a
estratgia, ser fornecido um selo de excelncia s escolas que alcanarem
determinado grau de efetividade nas suas aes, de acordo com critrios
de avaliao que sero definidos.
e) Aes de controle e avaliao
A ao de avaliao descrita a seguir proposta para acompanhamento dos
resultados conquistados por meio da implementao da educao financeira nas escolas.
Ao Avaliar os resultados de forma qualitativa e quantitativa.
Pblico Profissionais da Educao Bsica e alunos de estabelecimentos de ensino
que adotarem a educao financeira nas escolas.
Forma de atuao Para avaliar os resultados qualitativos conquistados por meio da adoo da
educao financeira nas escolas, a proposta selecionar estabelecimentos
de ensino distintos, pblicos e privados, que recebero acompanhamento
durante a realizao das atividades previstas para formao de professores
e implementao da educao financeira nas escolas. Sero estabelecidos
quesitos e metas, que podero evidenciar mudana de comportamento.
Para percepo dos resultados, sero comparados grupos que tiveram
acesso ao material com aqueles que no foram submetidos ao contedo de
educao financeira. A proposta avaliar o que foi interiorizado por
crianas, pr-adolescentes e adolescentes.
110
Para acompanhamento qualitativo, prope-se utilizar o controle e o
cadastro dos estabelecimentos de ensino que adotarem a educao
financeira nas escolas, que ser formulado aps concesso do selo de
reconhecimento.
Para definio do sistema que avaliar todo o programa de educao
financeira nas escolas, em suas diferentes aes, dever ser utilizado, como
base, o sistema de monitoramento e avaliao desenvolvido para o projeto
piloto, aperfeioado com as concluses obtidas e expandido para inserir
outras atividades e projetos do programa.
3.2. Educao financeira para adultos
Uma estratgia de educao financeira para adultos deve levar em conta diversos
fatores que iro interferir em sua disseminao. Esses fatores abrangem, como j dito
anteriormente, a dimenso do territrio brasileiro, as dificuldades de acesso a informaes por
parte de grande parcela da populao, a diversidade cultural, os graus de escolaridade, as faixas
etrias, os nichos de atuao, as diferenas de interesse, entre outros. Isso faz com que se tornem
ilimitadas as possibilidades de estratificao do pblico-alvo, os temas e as maneiras de
transmitir informaes e orientaes para a populao brasileira, bem como as formas de
contribuir na formao dos indivduos no que se refere educao financeira.
Os resultados da pesquisa realizada para desenvolvimento da Enef indicam
claramente que, na formulao das aes a serem empreendidas, devem ser considerados hbitos
de consumo profundamente arraigados na populao e as complexas questes psicolgicas e
sociais, alm da influncia das aes de propaganda e mdia que incentivam tais hbitos.
Nesse contexto, fica evidente a necessidade de diferentes abordagens nas aes de
educao financeira, voltadas para informar, formar e orientar o maior nmero de pessoas
111
possvel, utilizando-se de diversos veculos de comunicao, entre eles internet, televiso, rdio,
imprensa escrita, telefonia e TV WEB.
3.2.1. Plano estratgico para educao financeira para adultos
Considerando os diversos fatores que iro interferir na disseminao da educao
financeira para adultos, relacionam-se abaixo alguns pblicos-alvo, temas e aes que podem ser
objeto de programas no mbito da educao financeira para adultos.
a) Pblicos-alvo: militares; servidores pblicos; trabalhadores formais e informais; profissionais
liberais; estudantes universitrios; donas de casa; desempregados; aposentados; trabalhadores
rurais; beneficirios de programas sociais; brasileiros residentes no exterior; outros.
b) Temas: incluso financeira; proteo ao consumidor; finanas pessoais; noes de Economia;
noes do sistema financeiro nacional; crdito e microcrdito; consumo consciente;
previdncia; preparao para aposentadoria; investimentos; seguros; capitalizao; outros.
c) Aes: portal; palestras; publicaes e cartilhas; seminrios; encontros regionais; concursos;
centrais de atendimento; campanhas publicitrias; cursos; programas de televiso; programas
de rdio; feiras; espaos culturais; visitas programadas; outras.
Em linha com o trabalho desenvolvido na seo referente educao financeira
nas escolas, devero ser elaboradas diretrizes para a educao financeira para adultos que
abordem os objetivos educacionais a serem alcanados e os conceitos e produtos aplicveis a
cada situao no campo educacional, visando a mudana no grau de conhecimento e no
comportamento dos cidados. Essas orientaes devem ser flexveis, a ponto de poderem ser
aplicadas aos diversos pblicos-alvo, considerando-se a capacidade de compreenso de
cada indivduo.
112
Para otimizar o desenvolvimento da Enef com os diversos pblicos, recomenda-se
que sejam observados os procedimentos relacionados a seguir:
a) identificao do pblico-alvo e dos temas de interesse. Esse processo se dar sob demanda
dos rgos reguladores ou da entidade coordenadora, ou para preencher lacunas constatadas
por eles;
b) anlise do pblico-alvo, verificando se ele se enquadra em segmento organizado ou passvel
de ser agrupado segundo caractersticas, interesses ou demandas comuns. Essa etapa
importante para facilitar a abordagem e o desenvolvimento da ao;
c) definio da melhor forma de atendimento a cada pblico-alvo, que poder ser por meio do
fornecimento de contedo j existente, atuao de multiplicadores, treinamento (presencial ou
a distncia), desenvolvimento de campanha de publicidade ou outra;
d) formao de grupos de controle, visando a avaliao futura da efetividade da ao. Esses
grupos so fundamentais para o processo de avaliao da eficincia e da eficcia da ao,
mas, principalmente, para mensurao da sua efetividade, pois uma forma objetiva de se
avaliar se a ao produziu, de fato, alguma mudana duradoura de comportamento em relao
ao tema; e
e) proposio de aes de reviso.
A entidade coordenadora da Enef dever desenvolver plano de aes de curto,
mdio e longo prazos, contemplando a educao financeira para adultos no Brasil e para
brasileiros residentes em outros pases, considerando-se os aspectos at aqui mencionados, bem
como a necessidade de priorizao na utilizao de recursos.
Esse plano dever conter, pelo menos, as seguintes aes:
a) formar tutores e multiplicadores Para alavancar as aes da estratgia, fundamental
capacitar grande nmero de pessoas que possam multiplicar conhecimentos de educao
financeira para diversos pblicos. Grupos tutoriais sero constitudos para atuar na formao e
113
no acompanhamento desses multiplicadores, esclarecendo dvidas, participando de fruns de
discusso e de processos de avaliao de aes realizadas;
b) constituir frum virtual Desenvolvimento de espao no portal da Enef, com a principal
finalidade de fomentar discusses entre tutores e multiplicadores sobre temas de interesse da
educao financeira, esclarecendo dvidas e identificando pontos de aprimoramento da Enef;
c) promover cursos sobre temas de educao financeira Desenvolvimento de cursos presenciais
e a distncia sobre temas especficos de educao financeira, conforme o pblico-alvo.
Para alavancar a atuao da Enef no segmento adulto, fundamental estabelecer
parcerias com entidades diversas, pblicas e privadas, que j desenvolvam ou que tenham
condies de desenvolver aes de educao financeira.
Destacam-se como segmentos potenciais para parcerias o Sistema S, sindicatos,
associaes de classe, confederaes, cooperativas, organizaes no governamentais, Serasa,e
SPC, Foras Armadas, universidades, servidores pblicos e grupos religiosos.
No processo de elaborao da Enef, foram contatados alguns possveis parceiros.
O Ministrio da Justia, por meio da atuao dos Programas de Orientao e Proteo ao
Consumidor (Procons) , pode contribuir com a disseminao de informaes a respeito dos
mercados financeiro, de capitais, de seguros, de previdncia e de capitalizao.
Tambm na rea de atuao do Ministrio da Justia, a Escola Nacional de Defesa
do Consumidor, responsvel pela capacitao dos atendentes do Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor (Sindec), poder efetuar treinamentos, cursos e palestras que abordem conceitos e
regras de funcionamento dos mercados abrangidos pela Enef. Esses atendentes podero atuar
como multiplicadores da estratgia dentro do Sindec.
Ainda no mbito do Ministrio da Justia, a base de dados do Sindec, por reunir
dados e estatsticas das reclamaes dos consumidores registradas pela maioria dos Procons do
114
Brasil, poder servir como fonte de informaes para orientar as decises sobre aes
especficas da Enef.
Os militares, por serem um estrato fortemente organizado do pblico-alvo adulto,
so segmento a ser priorizado. Por estarem na estrutura do Ministrio da Defesa, foi feito contato
inicial com esse ministrio, propondo realizao de aes de educao financeira, a serem
ministradas, de forma transversal, no mbito da formao regular j existente e desenvolvida
normalmente nas Foras Armadas.
Ademais, esse grupo atua em reas remotas, de difcil acesso, do territrio
nacional, como regio amaznica e reas de fronteira, possibilitando disseminao das aes da
Enef, por intermdio da ao de militares como multiplicadores.
Nos contatos com o Ministrio da Defesa, foram identificadas as seguintes aes
para serem desenvolvidas e executadas com as Foras Armadas:
a) elaborar cursos de gesto de finanas pessoais, na modalidade presencial, para
formao de multiplicadores. Esses multiplicadores atuaro em cursos presenciais e como
tutores em eventos de capacitao distncia;
b) ministrar curso de gesto de finanas pessoais, na modalidade "ensino a
distncia", com acesso para os militares e seus dependentes;
c) promover palestras e seminrios sobre temas de educao financeira, no
Ministrio da Defesa, na Escola Superior de Guerra, nos Comandos Militares de rea e em
outras escolas militares;
d) facilitar o acesso dos militares aos curso e seminrios oferecidos pelos rgos que
compem o Coremec, at mesmo com utilizao de tecnologia TV WEB.
O Ministrio do Desenvolvimento Social, responsvel pelo programa Bolsa
Famlia, que proporcionou a cerca de 11 milhes de famlias, em todo o Brasil, melhores
condies sociais e financeiras, percebeu a importncia de oferecer educao financeira aos
115
beneficirios diretos e indiretos dessa iniciativa, considerando que a maioria dessas pessoas no
tinha familiaridade com questes dessa natureza.
Para atingir a todos os beneficirios, deve ser considerada a possibilidade de
utilizar os gestores do programa, em cada municpio, como multiplicadores, desenvolvendo-se
aes de capacitao dessas pessoas. De forma suplementar, os Centros de Referncia de
Assistncia Social podero oferecer apoio a essas iniciativas.
Em relao s aes de educao financeira a serem oferecidas aos beneficirios
do programa, a Enef poder contribuir, oferecendo orientaes tcnicas, materiais e cursos, a
serem adaptados realidade do pblico-alvo.
A Universidade Estadual Paulista (Unesp) mostrou interesse em desenvolver duas
linhas de ao. Uma voltada para construo de uma disciplina relacionada gesto de finanas
pessoais, a ser ministrada como optativa nos cursos de graduao da Universidade. Foi
considerada, tambm, a possibilidade de essa ao alcanar seus servidores e professores. Outra
voltada para os alunos da Unesp, na forma de disciplina eletiva, que contenha conceitos dos
mercados financeiro, de capitais, de seguros, de previdncia e de capitalizao.
Como resultado desse contato, j foi, at mesmo, ministrado o curso de Gesto
Financeira Pessoal para professores da Unesp, de modo que eles pudessem conhecer a
metodologia e as ferramentas utilizadas, tanto para atuar como multiplicadores locais, como para
desenvolver projetos especficos de interesse da Universidade, sob acompanhamento da entidade
coordenadora da Enef.
O Programa Nacional de Educao Fiscal (PNEF), coordenado pela Escola
Superior de Administrao Fazendria (Esaf), atua em conjunto com as Secretarias de Educao
estaduais e municipais, com a Controladoria-Geral da Unio e com as Secretarias de Fazenda e
possibilita disseminao da educao fiscal nas escolas e para adultos, com foco na cidadania.
116
Esse tema tem forte relao com a educao financeira, devendo haver esforos para atuao
conjunta que envolva a Enef e o PNEF.
Adicionalmente s aes e s parcerias acima mencionadas, cada rgo do
Coremec dever envidar esforos para continuar promovendo suas aes setoriais de educao
financeira. As aes propostas ou em curso no mbito de cada uma dessas instituies so
apresentadas em documento anexo.
117
SEO 4 GOVERNANA DA ENEF
Empreender esforo coordenado e uniforme para aumentar o grau de educao
financeira da populao no tarefa de organizao simples. As caractersticas do Brasil
recomendam que esse projeto seja realizado de forma descentralizada, com uso intensivo de
parcerias estratgicas, de mbito nacional, e de colaboradores locais, conhecedores das
peculiaridades de cada comunidade.
A estrutura de governana proposta para a Enef, com coordenao centralizada,
concilia a necessidade de integrao de entidades privadas e pblicas, interessadas em promover
a educao financeira, preservando a independncia dos rgos supervisores do sistema
financeiro para desenvolver suas prprias aes de educao.
Como poltica nacional, a Enef deve contemplar as seguintes esferas
de governana:
a) estratgica: formada pelo Comit Nacional de Educao Financeira (Conef),
responsvel pela direo, pelo fomento e pela superviso da Enef.
b) consultiva: formada, inicialmente por GAP, responsvel por orientar
pedagogicamente o desenvolvimento de contedos.
c) de coordenao: a Enef ser coordenada por entidade de propsito exclusivo, no
integrada estrutura de nenhum dos ministrios, a fim de assegurar o equilbrio da gesto
entre os mercados e segmentos interessados.
d) de execuo: por meio dos rgos supervisores e fiscalizadores do sistema
financeiro nacional e de parceiros realizadores, privados e pblicos, que desenvolvam
programas ou aes de Educao Financeira, qualificadas para integrar a Enef.
O Conef ser integrado por:
- presidente do BCB;
118
- presidente da CVM;
- diretor superintendente da Previc;
- superintendente da Susep;
- Secretrio-Executivo do MEC;
- Secretrio-Executivo do Ministrio da Fazenda;
- Secretrio-Executivo do Ministrio da Previdncia Social; e
- Secretrio-Executivo do Ministrio da Justia.
Ter as seguintes competncias:
- regular a Enef, podendo contemplar programas, planos e aes;
- estabelecer diretrizes e objetivos para planejamento, financiamento, execuo, avaliao e
reviso da Enef;
- constituir grupos de trabalho , com atividades especializadas, para dar suporte tcnico; e
- aprovar seu regimento interno.
O Conef poder convidar pessoas ou entidades e rgos para colaborar com seus
trabalhos ou participar de suas reunies.
A fim de assegurar o constante alinhamento entre as polticas e diretrizes do
Coremec e do Conef, a Presidncia desses comits, observar o sistema de rodzio entre os
rgos do Coremec.
O GAP ter a competncia de orientar pedagogicamente o Conef quanto
educao financeira nas escolas, principalmente quanto ao desenvolvimento e insero do
contedo financeiro nas diferentes disciplinas, de modo transversal, sob o enfoque das entidades
que integram ou representam os sistemas de ensino pblico federal, estaduais e municipais, e as
119
instituies de ensino privadas. Poder, tambm, considerando o pblico-alvo envolvido,
formular orientaes para outros programas, planos e aes da Enef.
O GAP desempenha, ainda, papel consultivo no Conef, para assegurar que o
contedo desenvolvido esteja em consonncia com as diretrizes curriculares e possa ser
integrado aos sistemas de ensino federal, estaduais e municipais.
Esse grupo ser composto por representantes das seguintes instituies e rgos:
- BCB;
- CVM;
- PREVIC;
- Susep;
- Conselho Nacional de Educao;
- Secretaria de Educao Continuada, Alfabetizao e Diversidade, do Ministrio da
Educao;
- Secretaria de Educao Bsica, do Ministrio da Educao;
- Instituies federais de ensino, no limite de cinco, indicadas pelo Ministrio da Educao,
sendo uma para cada regio do pas;
- Conselho Nacional de Secretrios de Educao; e
- Unio dos Dirigentes Municipais de Educao.
O GAP poder convidar pessoas ou entidades e rgos para colaborar com seus
trabalhos ou participar de suas reunies.
A entidade coordenadora da Enef dever assegurar centralizao de informaes
relativas execuo de cada programa ou ao, pelos diferentes parceiros da Enef, permitindo ao
Conef dispor de diagnsticos e relatrios de acompanhamento consolidados, com resultados
obtidos pelos setores privado e pblico.
120
Por outro lado, possibilita-se a existncia de um responsvel principal pelo
desenvolvimento de contedos e metodologias voltados ao grande pblico. A entidade poder,
tambm, ser responsvel pela execuo direta de aes ou programas de educao financeira,
priorizando as aes de carter bsico, de educao financeira nas escolas e de iniciao
financeira para adultos.
Considerando que os resultados da Enef sero obtidos em longo prazo,
atravessando geraes, a entidade coordenadora deve ter existncia perene, que ser alcanada
por meio de uma entidade privada. Ademais, a utilizao de uma entidade privada atende melhor
aos objetivos da estratgia, uma vez que possibilita o aporte de recursos por meio de outras
entidades privadas interessadas em fomentar a educao financeira da populao brasileira, sem
impossibilitar o repasse de recursos pblicos para execuo de projetos.
Para assegurar mais cooperao entre os diferentes setores, a entidade privada que
exercer o papel de coordenao da Enef dever, preferencialmente, ser instituda por entidades
representativas (associaes, fundaes, entidades autoreguladoras ou outras) dos mercados e os
membros instituidores podero participar das reunies do CONEF. Essa representatividade
desejvel, ainda, para equilibrar a relevncia com que sero tratados os diferentes contedos,
oriundos de cada segmento do sistema financeiro, e para possibilitar a viso pluralista, no
segmentada, especialmente para os programas de educao financeira da populao com menos
informaes sobre o campo financeiro. A participao das entidades instituidoras da entidade
privada nas reunies do CONEF facilitar o alinhamento das diretrizes estratgicas.
Com o objetivo de possibilitar a parceria entre o Estado e a entidade coordenadora
da Enef, essa entidade privada deve se classificar como Organizao da Sociedade Civil de
Interesse Pblico (Oscip), nos termos da Lei n. 9.790, de 23 de maro de 1999. As
caractersticas peculiares dessas entidades facilitam a colaborao com o setor pblico para
121
consecuo de objetivos de natureza social, como educao, ao mesmo tempo em que
possibilitam adequada fiscalizao dos resultados.
As Oscips devem observar os princpios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, economicidade e eficincia e possuir um conselho fiscal ou rgo
equivalente, podendo remunerar seus diretores, entre outras exigncias estabelecidas na
Lei n 9.790, de 1999.
Outra vantagem de uma entidade qualificada como Oscip que o governo federal
autoriza as empresas tributadas pelo regime de lucro real a deduzirem, como despesa
operacional, doaes de at 2% do lucro operacional bruto para entidades sem fins lucrativos
qualificadas como Oscip. Essa facilidade poder aumentar o volume de recursos obtidos pela
entidade para financiar as aes de educao financeira.
As Oscips podem celebrar termos de parceria, instrumentos firmados com o poder
pblico destinados formao de vnculo de cooperao entre as partes, estabelecendo os
direitos, as obrigaes e as responsabilidades. No termo de parceria, deve-se mencionar o
programa de trabalho a ser desenvolvido, estipular metas e resultados a serem atingidos, com
prazo de execuo, critrios objetivos de avaliao, previso de receitas e suas fontes e despesas,
entre outros dados.
A lei que instituiu as Oscips estabeleceu que servidores pblicos podem participar
dos conselhos da entidade, vedada, entretanto, a remunerao. Com essa possibilidade, dever
ser constitudo um conselho na fundao, o Conselho Enef, com os objetivos de acompanhar a
execuo do termo de parceria, elaborar o plano de aes a ser executado pela entidade e aprovar
os contedos relacionados educao financeira, sendo que, para o programa educao
financeira nas escolas, ser exigida a aprovao do GAP. Esse conselho no interferir em
assuntos administrativos, como salrios, aquisio de bens e servios e outros temas que no
estejam relacionados diretamente com a Enef.
122
O Conselho Enef contar com a participao obrigatria de pelo menos um
representante de cada um dos rgos que integram o Coremec e dos membros instituidores da
entidade, podendo ser integrado por outros membros do Conef.
Alm do Conselho Enef, haver pelo menos um representante do Conef em
cada um dos demais conselhos existentes na estrutura daentidade, todavia com competncia
para dispor apenas de assuntos finalsticos da Enef e sem responsabilidade por
decises administrativas.
A forma de superviso da entidade quanto execuo da Enef ser estabelecida
no termo de parceria, que dispor sobre o Conselho Enef e a participao do Estado nos
conselhos da entidade.
A estrutura de governana proposta deve permanentemente:
- assegurar padres ticos e de boa governana;
- promover e incentivar formao de parcerias, principalmente com entes de natureza privada e
pblica que possam multiplicar e alavancar as aes de informao, formao ou orientao;
- analisar propostas de projetos e de contedos de potenciais parceiros;
- gerenciar acervo de informaes e de materiais de apoio pedaggico;
- gerenciar o stio da Enef na internet;
- desenvolver contedos que possam ser disseminados;
- formar multiplicadores para aes diversas no mbito da Enef;
- divulgar a estratgia;
- elaborar e aplicar indicadores de avaliao sobre a efetividade das aes desenvolvidas;
- produzir relatrios e documentos referentes s atividades da Enef;
- desenvolver outras aes de interesse da Enef.
123
Para manter a Enef atualizada em relao s melhores prticas relacionadas ao seu
mbito de atuao, importante que os membros do Conef, do GAP e da entidade coordenadora
da Enef participem regularmente de seminrios, congressos, cursos, fruns e outros eventos
nacionais e internacionais referentes ao tema educao financeira.
124
SEO 5 CONCLUSO
A formulao de poltica pblica destinada a elevar o grau de educao financeira
da populao ser relevante no futuro. Mantida a tendncia de continuidade do processo de
desenvolvimento do pas, com reduo das desigualdades, alteraes na distribuio da renda e
ampliao progressiva da classe mdia e reduo da pobreza extrema, a sociedade ter mais
acesso a produtos e servios, que abrangem os financeiros. Na falta de poltica de Estado voltada
para a educao financeira, as decises de consumo e poupana sero tomadas por cidados
ainda pouco familiarizados com as peculiaridades desses produtos e servios.
Nesse sentido, a educao financeira deve ser promovida em harmonia com as
polticas pblicas sociais e econmicas, que contribuiro para melhorar a vida de milhes de
brasileiros, havendo necessidade correlata de oferecer educao financeira populao para que
lide com a nova realidade com desenvoltura. Na falta dessa sintonia, desequilbrios de natureza
financeira podem ser provocados por decises individuais de consumo, endividamento e
poupana inadequadas, as quais, quando ocorrem em massa, podem afetar a solidez do sistema
financeiro e interromper o processo de crescimento econmico.
Indivduos que faam escolhas no campo financeiro e de consumo conscientes e
bem informados se tornam protagonistas, assumindo, nos limites de suas disponibilidades e de
seus recursos, as rdeas de sua vida, adquirindo melhores condies para exercer sua cidadania.
Os objetivos desta Enef somente sero alcanados se essa poltica pblica for
promovida por meio de esforo continuado pelas prximas geraes. Com efeito, o desafio de
educar financeiramente o cidado requer transformaes culturais que somente sero alcanadas
com aes de longo prazo, consistentes quanto ao contedo tcnico e orientao pedaggica
adequados a cada pblico-alvo.
Nesse sentido, a conscientizao quanto ao impacto coletivo das decises
individuais de consumo, endividamento e poupana poder contribuir para desenvolvimento de
125
padres de consumo sustentveis, que considerem as repercusses ambientais e sociais,
habilitando o cidado a fazer opes para o bem-estar individual, familiar e de toda sociedade.
Em tal cenrio, esta Enef considera que a existncia de coordenao
adequada entre os diversos sujeitos da educao financeira mostra-se indispensvel, a fim de
assegurar que os esforos coletivos convirjam para os objetivos mencionados, mantendo-se
as parcerias voluntrias construdas no processo de elaborao desta proposta e integrando
novos colaboradores.
A evoluo das metodologias e das ferramentas utilizadas na Enef deve
considerar a experincia de outros pases e de organismos multilaterais, sendo recomendvel
que se promova amplo e profcuo intercmbio de informaes e conhecimentos. Parcerias
internacionais devero ser firmadas, at mesmo, no mbito de acordos dos quais
o Brasil participe.
O pas dever inserir o tema educao financeira nos fruns internacionais,
estimulando ou apoiando sua adoo por outras naes, reduzindo, por intermdio de aes
preventivas, a possibilidade de contgio em ambientes de crise.
Esta estratgia representa o incio de longa caminhada. Ela dever incorporar
novos parceiros e envolver toda a sociedade brasileira. Somente o esforo contnuo e sustentado
em longo prazo poder promover melhoria na capacitao dos cidados para lidar com o
dinheiro, o consumo e as peculiaridades do sistema financeiro.
Você também pode gostar
- Um diagnóstico da educação brasileira e de seu financiamentoNo EverandUm diagnóstico da educação brasileira e de seu financiamentoAinda não há avaliações
- Teto de gastos nas políticas públicas de educação básica: análise jurídica sob a ótica do princípio da vedação ao retrocesso socialNo EverandTeto de gastos nas políticas públicas de educação básica: análise jurídica sob a ótica do princípio da vedação ao retrocesso socialAinda não há avaliações
- Vieira 2020 EducacaoDocumento31 páginasVieira 2020 EducacaoVíctor GarfildAinda não há avaliações
- A Educacao Financeira Escolar em PortugaDocumento14 páginasA Educacao Financeira Escolar em PortugaHugo VargasAinda não há avaliações
- 1-Educ. Financ. e Educ. Mat. Crítica Na Escola - Articulando Conhec. Ens - MédioDocumento12 páginas1-Educ. Financ. e Educ. Mat. Crítica Na Escola - Articulando Conhec. Ens - MédioMaria Fernanda Vieira CostaAinda não há avaliações
- Relatorio Semana Enef 2022 e 2023 - VFDocumento43 páginasRelatorio Semana Enef 2022 e 2023 - VFMaria KarenAinda não há avaliações
- 2001 TCC Mattheus DefinitivoDocumento14 páginas2001 TCC Mattheus DefinitivoMatt LeviAinda não há avaliações
- 2001 TCC MATTHEUS PreliminarDocumento13 páginas2001 TCC MATTHEUS PreliminarMatt LeviAinda não há avaliações
- Educação Finaceira Brasileira: Uma Análise Do Segundo Mapeamento Das Iniciativas de Educação Financeira Na Formação Do Investidor Brasileiro de 2015 A 2020Documento14 páginasEducação Finaceira Brasileira: Uma Análise Do Segundo Mapeamento Das Iniciativas de Educação Financeira Na Formação Do Investidor Brasileiro de 2015 A 2020Matt LeviAinda não há avaliações
- Educação Financeiroa Bloco IIDocumento108 páginasEducação Financeiroa Bloco IIRomário GolloAinda não há avaliações
- Relatorio 8 Semana ENEFDocumento28 páginasRelatorio 8 Semana ENEFMaria KarenAinda não há avaliações
- Apostila Educação Financeira MD BasicoDocumento13 páginasApostila Educação Financeira MD BasicoADERITOAinda não há avaliações
- Apostila Educação Financeira MD BasicoDocumento13 páginasApostila Educação Financeira MD BasicoMatemática PressãooAinda não há avaliações
- Professor b1 2015 Web Com CapaDocumento97 páginasProfessor b1 2015 Web Com CapaDiego FortunattoAinda não há avaliações
- Educação FinanceiraDocumento97 páginasEducação FinanceirafranciscobcAinda não há avaliações
- EM Livro2 VoceSeuFuturoFazendoAcontecerDocumento216 páginasEM Livro2 VoceSeuFuturoFazendoAcontecerlizbella36Ainda não há avaliações
- Educação Financeiroa Bloco III PDFDocumento116 páginasEducação Financeiroa Bloco III PDFRomário Gollo100% (1)
- Ciclo 3Documento15 páginasCiclo 3Amanda R. TillmannAinda não há avaliações
- EM Livro1 VoceAquieAgora PDFDocumento186 páginasEM Livro1 VoceAquieAgora PDFLarissa FrançaAinda não há avaliações
- Educação Financeira OrçamentoDocumento20 páginasEducação Financeira OrçamentogregorioannaclaraAinda não há avaliações
- Aluno Bloco03 2014 PDFDocumento200 páginasAluno Bloco03 2014 PDFDestroyerofDreamsAinda não há avaliações
- Atividade Da Educaçao e PoliticaDocumento7 páginasAtividade Da Educaçao e PoliticaJacob YeboahAinda não há avaliações
- Relatorio 7 Semana ENEFDocumento15 páginasRelatorio 7 Semana ENEFMaria KarenAinda não há avaliações
- Educação Financeira e Psicologia Econômica - Uma Discussão e Algumas RecomendaçõesDocumento26 páginasEducação Financeira e Psicologia Econômica - Uma Discussão e Algumas RecomendaçõesLorena AraujoAinda não há avaliações
- Ricardo Pena Pinheiro - EDUCACAO FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA, A NOVA FRONTEIRA DOS FUNDOS DE PENSAODocumento16 páginasRicardo Pena Pinheiro - EDUCACAO FINANCEIRA E PREVIDENCIARIA, A NOVA FRONTEIRA DOS FUNDOS DE PENSAOKelson BarrosoAinda não há avaliações
- Metodologia Cientìfica 4Documento19 páginasMetodologia Cientìfica 4Renata MotaAinda não há avaliações
- Educação FinanceiraDocumento19 páginasEducação FinanceiraDaniela UrquizaAinda não há avaliações
- A Responsabilização Docente Na Estratégia 2020 Do Banco MundialDocumento16 páginasA Responsabilização Docente Na Estratégia 2020 Do Banco MundialJean Zeferino RodriguesAinda não há avaliações
- Relatório ODMDocumento212 páginasRelatório ODMMarina PinhoniAinda não há avaliações
- 3787 10911 1 PBDocumento15 páginas3787 10911 1 PBDaniel SouzaAinda não há avaliações
- Implicações EconómicasDocumento9 páginasImplicações EconómicasManuel Belengue A. CassuleAinda não há avaliações
- Estudo Sobre Educação Previdenciária Nas EFPC 1.3Documento64 páginasEstudo Sobre Educação Previdenciária Nas EFPC 1.3andreAinda não há avaliações
- Reestruturação Produtica e As Reformas Na Educação Básica No BrasilDocumento17 páginasReestruturação Produtica e As Reformas Na Educação Básica No Brasilmarcelo reisAinda não há avaliações
- Mateus Barbosa 11ºSEDocumento8 páginasMateus Barbosa 11ºSEMateus BarbosaAinda não há avaliações
- Referencial de Educação FinanceiraDocumento57 páginasReferencial de Educação FinanceiraRicardoCostaAinda não há avaliações
- Relatório Anual 2013Documento44 páginasRelatório Anual 2013Juliana S FernandesAinda não há avaliações
- Educacao Financeira e Cooperativismo SQ - 8ku JDocumento39 páginasEducacao Financeira e Cooperativismo SQ - 8ku JKarol KetAinda não há avaliações
- Os Projetos Financiados Pelo Banco MundialDocumento16 páginasOs Projetos Financiados Pelo Banco MundialMada VieiraAinda não há avaliações
- A Importância Da EducaçãoDocumento13 páginasA Importância Da EducaçãoLucia LeonhardtAinda não há avaliações
- Educacao & Teoria CapitalDocumento8 páginasEducacao & Teoria CapitalAmanda NunesAinda não há avaliações
- Referencial de Educação Financeira PDFDocumento57 páginasReferencial de Educação Financeira PDFGisela AlexandraAinda não há avaliações
- Luisaazevedo Transferenciasderendano BrasilDocumento34 páginasLuisaazevedo Transferenciasderendano Brasilelric3Ainda não há avaliações
- Educacao Financeira Na Educacao Basica Bom NegocioDocumento9 páginasEducacao Financeira Na Educacao Basica Bom NegocioKelson BarrosoAinda não há avaliações
- SIOPEDocumento13 páginasSIOPEFernanda Matias da SilvaAinda não há avaliações
- Programa Nacional de Educação Fiscal Convite À Cidadania - SEF - MG (1) .Docx ApresetacaoDocumento26 páginasPrograma Nacional de Educação Fiscal Convite À Cidadania - SEF - MG (1) .Docx Apresetacaorobson nunes menezesAinda não há avaliações
- Educacao Financeira Programa de EducacaoDocumento14 páginasEducacao Financeira Programa de EducacaoHugo VargasAinda não há avaliações
- Entendendo o Orçamento PúblicoDocumento34 páginasEntendendo o Orçamento PúblicoThiago Hoerlle100% (1)
- Texto Aula 01Documento18 páginasTexto Aula 01caioaqueirozAinda não há avaliações
- Trabalho 2 de EconomiaDocumento10 páginasTrabalho 2 de EconomiaYannick César Marcelino BotãoAinda não há avaliações
- Trabalho Desenvolvimento IIDocumento9 páginasTrabalho Desenvolvimento IIBeatriz VaroloAinda não há avaliações
- Educação Financeira No Brasil - Onde Estamos e Onde Devemos ChegarDocumento8 páginasEducação Financeira No Brasil - Onde Estamos e Onde Devemos ChegarZaady SanabriaAinda não há avaliações
- Fórum de Financiamento Da EducaçãoDocumento5 páginasFórum de Financiamento Da EducaçãoCristiane FerreiraAinda não há avaliações
- Jogos Curso CuritibanosDocumento34 páginasJogos Curso CuritibanosiedaAinda não há avaliações
- Políticas Públicas para A Juventude: Um Olhar Sobre Os Programas Fies E ProuniDocumento11 páginasPolíticas Públicas para A Juventude: Um Olhar Sobre Os Programas Fies E Prouniy259393Ainda não há avaliações
- A Influência Da Educação Superior Nas Decisões Financeiras de Consumo e InvestimentoDocumento5 páginasA Influência Da Educação Superior Nas Decisões Financeiras de Consumo e InvestimentoGyba FraggassAinda não há avaliações
- Os Sujeitos Endividados e A Educação Financeira: Indebted Subjects and Financial EducationDocumento18 páginasOs Sujeitos Endividados e A Educação Financeira: Indebted Subjects and Financial EducationArthur Nascimento VieiraAinda não há avaliações
- Orçamento Módulo IDocumento50 páginasOrçamento Módulo IMarcius Tiberius Soares FalcãoAinda não há avaliações
- 01 Texto IntrodutórioDocumento74 páginas01 Texto IntrodutórioGmaraes CastroAinda não há avaliações
- Artigo - Um Capricho Ou Uma NecessidadeDocumento8 páginasArtigo - Um Capricho Ou Uma NecessidadeFirmino Kizi MatonaAinda não há avaliações
- Resumo-Crescimento e Desenvolvimento Económico-Francisco DinizDocumento14 páginasResumo-Crescimento e Desenvolvimento Económico-Francisco DinizMário Lucutacanador100% (2)
- 4° e 5° SEMESTRE 2019 - PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR - REESTRUTURAÇÃO DA EMPRESA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COLHEITADocumento13 páginas4° e 5° SEMESTRE 2019 - PRODUÇÃO TEXTUAL INTERDISCIPLINAR - REESTRUTURAÇÃO DA EMPRESA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS COLHEITAAlex NascimentoAinda não há avaliações
- Ciclo de Vida Do Produto - Joana MacamoDocumento14 páginasCiclo de Vida Do Produto - Joana MacamoEdmilson SimbineAinda não há avaliações
- Aplicação de Tecnologias Limpas Na Indústria HoteleiraDocumento25 páginasAplicação de Tecnologias Limpas Na Indústria HoteleiraJersé MessiasAinda não há avaliações
- Estudo de Caso AmbevDocumento17 páginasEstudo de Caso AmbevCarvalho TraderAinda não há avaliações
- Resenha Cálculos FinanceirosDocumento3 páginasResenha Cálculos FinanceirosWesley BrandaliseAinda não há avaliações
- Analise Invst20200519 - 184222Documento9 páginasAnalise Invst20200519 - 184222Adeylson Luiz100% (1)
- CAREMAIS CLINIC Proposta Comercial - Aquisição de Unidade RV 21092021Documento4 páginasCAREMAIS CLINIC Proposta Comercial - Aquisição de Unidade RV 21092021Isma CollarAinda não há avaliações
- Como Montar Uma Loja de Souvenirs TemáticosDocumento32 páginasComo Montar Uma Loja de Souvenirs TemáticosPaulo Cesar MenezesAinda não há avaliações
- 1 - Curso Básico ForexDocumento48 páginas1 - Curso Básico ForexMaikon Vinhal PortesAinda não há avaliações
- UnidasDocumento5 páginasUnidasVitória FernandesAinda não há avaliações
- Day Trade para Iniciantes - o Que É e Como Funciona XDocumento9 páginasDay Trade para Iniciantes - o Que É e Como Funciona XRogérioMartinezBuenoAinda não há avaliações
- Apostila ChaveiroDocumento183 páginasApostila ChaveiroavelarresolveAinda não há avaliações
- 13 - Finanças Sustentáveis - A4Documento6 páginas13 - Finanças Sustentáveis - A4VmnascimentoAinda não há avaliações
- 1 - Manual - Pratica EmpresarialDocumento20 páginas1 - Manual - Pratica EmpresarialNiely NielyAinda não há avaliações
- Slide - DFCDocumento48 páginasSlide - DFCKleber BritoAinda não há avaliações
- Tertuliando n4Documento4 páginasTertuliando n4Luís Norberto LourençoAinda não há avaliações
- Geografia Dos Trasporte e ComunicacaoDocumento15 páginasGeografia Dos Trasporte e ComunicacaoJeremias agostinhoAinda não há avaliações
- 2 Trabalho Desenv. Terceiro MundoDocumento12 páginas2 Trabalho Desenv. Terceiro Mundocelso mucabeleAinda não há avaliações
- Tecnologia de Máquinas Agrícolas Erilaine 1Documento54 páginasTecnologia de Máquinas Agrícolas Erilaine 1Cleber MedeirosAinda não há avaliações
- Matf A Matemática Do Financiamento E Das Aplicações de CapitalDocumento172 páginasMatf A Matemática Do Financiamento E Das Aplicações de CapitalMaria PedrosoAinda não há avaliações
- BahiaDocumento2 páginasBahiaFellipe ChoiAinda não há avaliações
- NCP 16Documento5 páginasNCP 16Celia LeiteAinda não há avaliações
- Cardim de Carvalho (2011) - O Paradigma Pós KeynesianoDocumento4 páginasCardim de Carvalho (2011) - O Paradigma Pós KeynesianomarceloscarvalhoAinda não há avaliações
- Síntese ReportagemDocumento2 páginasSíntese ReportagemmaresendeAinda não há avaliações
- Abre BioDocumento12 páginasAbre BioIvo Tadeu BasílioAinda não há avaliações
- Microempreendedor Individual - Mei Dívidas e Investimentos em Época Da Pandemia Covid - 19.Documento24 páginasMicroempreendedor Individual - Mei Dívidas e Investimentos em Época Da Pandemia Covid - 19.Daniela LimaAinda não há avaliações
- Adauto CARDOSO e Rosana DENALDI Urbanização de Favelas No Brasil PDFDocumento352 páginasAdauto CARDOSO e Rosana DENALDI Urbanização de Favelas No Brasil PDFGlaucieneGonçalves100% (1)
- Exame de Auditoria Fiscal e TributariaDocumento6 páginasExame de Auditoria Fiscal e TributariaIbraimo AlbertoAinda não há avaliações
- Carteira Rico3Documento5 páginasCarteira Rico3Rodrigo TanakaAinda não há avaliações
- Contabilidade - Custos ADocumento35 páginasContabilidade - Custos ACustosditoy67% (3)