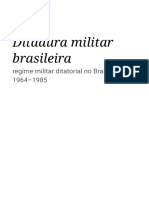Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Veja e A Formação de Uma Opinião Pública Favorável Ao Regime Militar
Enviado por
Espaço ExperiênciaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Veja e A Formação de Uma Opinião Pública Favorável Ao Regime Militar
Enviado por
Espaço ExperiênciaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao
XXXVII Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao Foz do Iguau, PR 2 a 5/9/2014
Veja e a formao de uma opinio pblica favorvel ao Regime Militar1
Ranielle Leal2
Antonio Carlos Hohlfeldt3
Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
Resumo
Este artigo analisa a atuao da Revista Veja na construo de uma imagem positiva do
regime militar tendo como ponto de partida o momento posterior publicao do Ato
Institucional de nmero 5, em dezembro de 1968. A nossa hiptese que assim como a
maioria dos meios de comunicao atuantes poca, Veja tambm contribuiu para uma
opinio pblica favorvel ao regime. Escolhemos como abordagem terica a hiptese da
Espiral do Silncio e como metodologia a anlise de contedo qualitativa4.
Palavras- chave: Veja; Ditadura militar; Espiral do Silncio.
Introduo
O governo de Joo Goulart permanece na histria do Brasil como um perodo
marcado pelo agravamento da crise econmica e por intensa vida poltica, bem como
por conflitos sociais e polticos. Nesse contexto foi que, sob o argumento de combater a
subverso e assegurar a ordem democrtica, os militares tomaram o poder, em 1964,
transformando, de forma radical, as estruturas do pas, durante os anos seguintes.
A ditadura militar, instaurada em 1964, estendeu-se por 21 anos, nos quais a
Presidncia da Repblica foi ocupada por militares. A poca caracteriza-se pela
ausncia de mecanismos democrticos, censura aos veculos de imprensa, suspenso
dos direitos constitucionais, perseguio poltica e represso a todos os que se opunham
ao regime militar.
1
Trabalho apresentado no GP Teorias da Comunicao do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicao,
evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao.
2
Jornalista com MBA em Marketing pela FGV-RJ e mestrado em Comunicao pela UMESP, atualmente
Doutoranda em Comunicao pela PUC-RS, email: ranileal29@gmail.com
3
Orientador do trabalho. Possui doutorado em Lingustica e Letras pela Pontifcia Universidade Catlica do Rio
Grande do Sul. Professor do Curso de doutorado em Comunicao da PUCRS, email: a_hohlfeldt@yahoo.com.br
4
Segundo Bardin (2009, p.4) a anlise de contedo um conjunto de instrumentos metodolgicos [...] em constante
aperfeioamento, que se aplicam a discursos (contedos e continentes) extremamente diversificados. O fator
comum destas tcnicas mltiplas e multiplicadas [...] uma hermenutica controlada baseada na deduo: a
inferncia. [...] Enquanto rigor de observao, a anlise de contedo oscila entre os dois polos, do rigor da
objetividade e da fecundidade da subjetividade.
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao
XXXVII Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao Foz do Iguau, PR 2 a 5/9/2014
Os meios de comunicao e, em especial, a imprensa, foram cooptados ou
obrigados a trabalhar em prol do regime poltico vigente e ditatorial (SMITH, 2000).
Essa interveno do poder poltico na mdia teve como premissa a construo de uma
opinio pblica favorvel aos militares e ao seu modo de governar, enquanto que, por
outro lado, pretendeu no autorizar a visibilidade da face violenta da ditadura.
Uma orquestrao estratgica, centralizada nos aparatos do poder militar,
investia em modos de gesto da informao, selecionando o que deveria ser visibilizado
e censurando o que deveria ser relegado ao esquecimento. Naquele panorama, o
jornalismo levava aos brasileiros um discurso quase unnime, favorvel ao governo,
discurso que era entendido como verdadeiro pela sociedade, o que muito contribuiu para
a imagem positiva alcanada pelos militares junto populao brasileira.
No presente trabalho de investigao cientfica, dedicamo-nos, a analisar o
trabalho de construo de um consenso forjado pelos militares, com o apoio dos meios
de comunicao. Escolhemos como objeto de pesquisa a revista Veja. Nosso referencial
terico-metodolgico embasa-se na Hiptese da Espiral do Silncio (NOELLENEUMAN, 1995).
Desta forma, estruturamos este artigo tendo como passo inicial uma breve
contextualizao da ditadura militar e sua relao com os meios de comunicao, para
em seguida nos dedicarmos a Espiral do Silncio e, posteriormente, a Veja e ao
processo de anlise.
A Ditadura militar e sua relao com a mdia (1964 1985)
Em abril de 1964, aps o golpe e afastamento de Joo Goulart, a Junta Militar,
fixou novas regras para a poltica brasileira. A primeira medida caracterizou-se no Ato
Institucional n1, que abre uma fase de cruis perseguies aos inimigos do referido
regime. a fase de cassaes, inquritos e exlios. Como programa, os militares
recorrem ao ideal positivista, com a pretenso de montar uma administrao forte, para
colocar em prtica o progresso que a democracia no conseguira constituir. Assim, o
Ato Institucional n. 1 (AI-1) promoveu a suspenso de imunidades parlamentares,
autorizou o Executivo a cassar mandatos de deputados, cancelou a vitaliciedade dos
magistrados e a estabilidade dos servidores pblicos. Segundo Fausto (2010, p. 239), o
AI-1 tambm [...] estabeleceu as eleies de um novo Presidente da Repblica, por
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao
XXXVII Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao Foz do Iguau, PR 2 a 5/9/2014
votao indireta do Congresso Nacional. A 15 de abril de 1964, o general Humberto de
Alencar Castelo Branco foi eleito Presidente, com mandato at 31 de janeiro de 1966.
Castelo Branco assumiu a direo do pas. Em seu pronunciamento oficial,
declarou defender a democracia. Porm, no foi o que aconteceu. Ao comear sua
gesto, assumiu posio autoritria, base de cassao de mandatos e de suspenso de
direitos polticos. No princpio, foram cassados parlamentares estaduais e federais.
Depois, a cassao se estendeu administrao, atingindo diplomatas, funcionrios
pblicos e professores. Muitos foram cassados e afastados de suas funes e de seus
postos, sem qualquer direito de defesa. Para espionar e controlar a vida dos cidados, a
Ditadura militar instituiu, ainda em 1964, o Servio Nacional de Informaes (SNI),
criado atravs da Lei 4.3415, de 13 de junho de 1964, em cujo artigo 2 l-se: O
Servio Nacional de Informaes tem por finalidade superintender e coordenar, em todo
o territrio nacional, as atividades de informao e contra informao, em particular as
que interessem Segurana Nacional. Havia ento, um clima de desconfiana e de
terror que se disseminou com os inquritos policiais e militares. Qualquer suspeito de
estar contra o governo era vtima de acusaes vagas, muitas vezes, no provadas, que
lhe custavam carreira e futuro (CALDEIRA et al., 1997).
Apesar do regime ditatorial em vigncia, os anos 60, de incio, foram benficos
cultura e a alguns meios de comunicao. Ao contrrio de outros setores, esses espaos
viveram momentos de criatividade. As novidades tecnolgicas permitiram maior
agilidade e alcance da informao, sobretudo para a televiso, que comeava a se
consolidar, aos poucos, como o mais importante veculo de comunicao. Programas de
auditrio e telenovelas ganharam projeo.
Durante a primeira dcada da ditadura militar, os meios de comunicao de
massa (MCM) ganharam maior projeo em territrio nacional. Naquele mesmo
perodo, ocorreu verdadeira efervescncia cultural, que representava uma liberdade
utpica, construda, principalmente, por jovens. Ao se expandirem, os movimentos
culturais comearam a ganhar fora e, por conseguinte, demonstravam, cada vez mais,
sua oposio ao regime. Em 1967, um novo gnero musical tomou conta do Brasil a
msica de protesto, canes que traziam subjacentes significaes ideolgicas
Lei disponvel em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4341.htm>. Acesso em: 20 mai. 2014.
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao
XXXVII Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao Foz do Iguau, PR 2 a 5/9/2014
expressivas. Isto significa que a msica de protesto se imps como [...] herdeira direta
das ideias do Centro Popular de Cultura, da Unio Nacional dos Estudantes, e tinha
como principal caracterstica a ideia de que despontava um novo amanh
revolucionrio (CALDEIRA et al., 1997, p. 319).
Ao tempo em que acontecia uma intensa mobilizao de artistas por meio da
msica de protesto, explodia, no Brasil, uma onda de mobilizaes estudantis e
trabalhistas. Os movimentos estudantis de protesto vinham acontecendo desde o
governo de Goulart, quando os jovens se agruparam em associaes, como a Unio
Nacional dos Estudantes (UNE), para batalhar em prol das Reformas de Base e apoiar
qualquer guinada esquerda de Joo Goulart. A partir da ditadura, tornaram-se vtimas
da represso (CALDEIRA et al., 1997).
O ltimo ano do governo de Castelo Branco foi marcado, por grandes
manifestaes contra a ditadura militar, que se agigantavam no governo seguinte. Ainda
no poder, Castelo Branco, pouco antes das eleies sucesso presidencial de 1966,
promulga o Ato Institucional n. 3 (AI-3), segundo o qual as eleies para governadores
e prefeitos passavam a ser indiretas. A liberdade poltica tornou-se, assim, cada vez
mais restrita, inclusive com o fechamento do Congresso, ao final do mesmo ano. Ainda
na fase final de seu mandato, com o Ato Institucional n. 4 (AI-4), Castelo Branco reabre
o Congresso Nacional, com o intuito de reunir os polticos em sesso extraordinria,
para votar e discutir a implementao da Constituio de 1967.
Segundo Vicentino e Dorigo (2001), a referida Carta Magna teve pouca
durao, uma vez que incorporava princpios presentes nos atos institucionais impostos,
mas foi ultrapassada, com rapidez, por conta das novas e permanentes determinaes do
governo militar. Ainda em 1967, ocorreram as eleies para presidente da Repblica.
Castelo Branco no conseguiu fazer seu sucessor. Foram eleitos, para presidente, o
marechal Arthur da Costa e Silva, e, para vice-presidente, o civil udenista Pedro Aleixo.
Com o novo governo, registravam-se modificaes polticas e significativo avano do
processo de industrializao, responsveis pela transformao do regime militar em
ditadura brutal, que restringiu ao mximo as liberdades pblicas e democrticas.
Com o apoio da linha dura das Foras Armadas, bem como de grupos que
defendiam radicalmente o golpe militar, Costa e Silva assumiu a presidncia da
Repblica e, imediatamente, intensificou a represso policial-militar contra todos os
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao
XXXVII Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao Foz do Iguau, PR 2 a 5/9/2014
movimentos, grupos e focos de oposio poltica. Dentre as coligaes radicais a favor
dos militares, encontrava-se o Comando de Caa aos Comunistas (CCC), um dos
principais movimentos brasileiros de extrema direita. O CCC conquistou espao antes
mesmo do Ato Institucional n. 5 (AI-5), responsvel por uma censura brutal a tudo e a
todos que se opusessem ao Governo.
O AI-5 foi o instrumento de uma revoluo dentro da revoluo ou de
uma contra-revoluo. Ao contrrio de atos anteriores, no tinha prazo
de vigncia. O Presidente da Repblica voltou a ter poderes para
fechar provisoriamente o Congresso, o que a Constituio de 1967 no
autorizava. Restabeleciam-se os poderes presidenciais para cassar
mandatos e suspender direitos polticos, assim como para demitir ou
aposentar servidores pblicos.
A partir do AI-5, o ncleo militar do poder concentrou-se na chamada
comunidade de informaes, isto , naquelas figuras que estavam no
comando dos rgos de vigilncia e represso. Abriu-se um novo ciclo
de cassao de mandatos, perda de direitos polticos e de expurgos no
funcionalismo, abrangendo muitos professores universitrios.
Estabeleceu-se na prtica a censura aos meios de comunicao; a
tortura passou a fazer parte integrante dos mtodos de Governo
(FAUSTO, 2010, p.265).
Logo aps decretar o AI-56, o Presidente Costa e Silva foi vtima de derrame
cerebral. O Vice-Presidente Pedro Aleixo foi impedido de assumir o poder pelas
lideranas militares frente do Governo. Como soluo para manter a "democracia",
formou-se uma Junta Militar para governar, pelo pequeno perodo de dois meses.
Integravam a junta: o Ministro do Exrcito, Aurlio de Lira Tavares; o Ministro da
Fora Area, Mrcio de Sousa e Melo; e o Ministro da Marinha, Almirante Augusto
Hamann Rademaker Grnewald. A atuao desses trs ministros se identifica, na
trajetria histrica e poltica do pas, com a crescente radicalizao de descontentes e de
reaes do governo, que determina a possibilidade de expulso do pas e at a pena de
morte para os casos de guerra subversiva, no caso dos revolucionrios contrrios
ditadura militar (FAUSTO, 2010, p. 265). Porm, a pena de morte nem foi adotada nem
oficializada. Ainda em consonncia com esse autor, o governo militar preferia
execues sumrias e/ou violentas torturas.
O Ato Institucional de nmero 5 foi publicado no dia 13 de dezembro de 1968 durante o governo do
General Costa e Silva. Ato disponvel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-05-68.htm>.
Acesso em: 20 mai. 2014.
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao
XXXVII Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao Foz do Iguau, PR 2 a 5/9/2014
Diante da grave doena do Presidente Costa e Silva, e mesmo antes de sua
morte, que s viria a ocorrer no dia 7 de dezembro de 1969, a junta militar j declarava
como vagos os cargos de presidente e vice-presidente, marcando as eleies pelo
Congresso Nacional, para outubro do mesmo ano. As articulaes apontavam para o
nome do ex-chefe do SNI, Emlio Garrastazu Mdici, que terminou sendo eleito pelo
Congresso, reaberto para a eleio. Na mesma ocasio, o vice-presidente eleito foi o
ento Ministro da Marinha, Augusto Rademarker. Inicia-se assim, um dos perodos
mais radicais da ditadura militar.
Mdici permaneceu frente da presidncia do Brasil entre 1969 e 1974, perodo
em que a represso e a tortura atingiram nveis extremos. Contudo, o bom desempenho
do governo na economia, decorrente de emprstimos externos, que serviram para
ampliar a estatizao, elevaram os ndices de aceitao dos militares na sociedade
brasileira. Foi o perodo conhecido como o milagre brasileiro, que, em verdade, no
passou de um surto de prosperidade para poucos, uma vez que, de fato, o tal milagre
conduziu deteriorao do perfil de renda da maioria da populao. Todo o dinheiro
das obras do governo militar foi arrancado da populao, como Caldeira et al. (1997)
afirmam.
Embasado no AI-5, o Presidente Mdici exerceu total controle sobre os MCM
(Meios de Comunicao de Massa) e os utilizou para divulgao das realizaes do
governo, principalmente, a respeito do milagre brasileiro, que se tornou o instrumento
de propaganda mais relevante. Na falta de outras conquistas, os bons resultados
econmicos tornaram-se a prpria razo do regime militar. Em outras palavras, com o
Ato Institucional n. 5, o controle sobre a imprensa e sobre os veculos de comunicao
em geral passou a ser completo, principalmente, entre 1968 e 1976:
Todos os meios valiam para intimidar empresas e jornalistas:
proibio oficial de divulgao de informao por membros do
Governo, telefonemas para jornalistas e donos de jornais, bilhetes dos
rgos de censura com os assuntos proibidos do dia, processos contra
jornalistas, apreenso de edies j impressas e censura prvia. A
gradao funcionava de acordo com a simpatia dos veculos ao
Regime. Os amigos contratavam jornalistas indicados por militares,
recusavam-se a buscar notcias que poderiam desagradar os donos do
poder e desfrutavam da liberdade dos que se submetiam. Na maioria
das vezes bastava um telefonema ou um bilhete para resolver questes
espinhosas. Depois vinham os que divulgam fatos que irritam os
donos do poder, como publicar fotos de mulheres nuas ou
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao
XXXVII Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao Foz do Iguau, PR 2 a 5/9/2014
7
determinadas notcias de agncias internacionais. Nesse caso os
rgos de censura costumavam aumentar a lista (CALDEIRA et al.,
1997, p. 324).
Todas as medidas governamentais que cercearam a liberdade de imprensa e as
liberdades individuais tiveram como intuito impedir crticas em relao s aes do
governo e a tudo que contrariava os interesses dos militares. Os agentes da censura
estavam presentes nas redaes de jornais, revistas, estaes de rdio e de TV, para
vetar a veiculao de quaisquer matrias contrrias ditadura militar. O povo brasileiro
conviveu com uma nica verdade permitida: a oficial, ou seja, a dos governantes. E,
decerto, o noticirio poltico foi o que mais sofreu medidas repressivas.
Aos que no se curvaram aos donos do poder, um tratamento ainda mais
perverso foi reservado. A situao piorou para os MCM, em 1970, quando o governo
militar introduziu a censura prvia aos livros e peridicos, ao teatro, enfim, s
publicaes, diverso e aos espetculos pblicos em geral, inclusive a programao de
rdio e TV.
Essa atuao dos meios de comunicao, orquestrada pelo militares, forjou um
consenso nacional em torno da aceitao das aes do governo, visto que o povo no
tinha acesso s informaes do que se passava nos bastidores. O militarismo brasileiro
utilizou-se do poder, entendido conforme FOUCAULT (1996), explorando tanto seu
potencial negativo de represso, como se aproveitando de sua face positiva, atravs da
utilizao dos mecanismos de educao, informao e comunicao, direcionados para
ressaltar os pontos que interessavam aos que formavam o pensamento poltico militar na
poca. Esse consenso forjado imps o silenciamento dos que pensavam diferente. Nesse
sentido que recorremos Noelle-Neuman e sua hiptese da Espiral do Silncio,
objetivando esclarecer como o consenso se formou e teve como protagonistas os meios
de comunicao. Aqui, no entanto, analisaremos somente a participao da revista Veja
como contribuinte para a formao de uma opinio pblica dominante e favorvel aos
militares.
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao
XXXVII Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao Foz do Iguau, PR 2 a 5/9/2014
A Espiral do Silncio
Em 1972, a alem Elisabeth Noelle-Neumann, especialista em demoscopia7,"
apresentou o artigo Return to the Concept of Powerfull Mass Media num congresso
em Tquio.
Partindo do conceito de percepo seletiva e retomando o de
acumulao provocada pela mdia, conceito alis, ainda ento recente
na hiptese de agenda setting [...], Noelle-Neumann destacava a
onipresena da mdia como eficiente modificadora e formadora de
opinio a respeito da realidade (HOHFELDT, 2001, p.221).
Neumann d continuidade aos estudos sobre a ligao existente entre mdia e
opinio pblica e lana nos anos 80, o livro A espiral do silncio Opinio pblica:
Nossa pele social. O livro uma grande sntese de todos os seus estudos sobre mdia e
opinio pblica. Na obra, Noelle-Neumann destaca quatro hipteses que sustentam sua
pesquisa, todas ligadas entre si: a primeira, que as pessoas possuem um medo inato do
isolamento; a segunda, que a sociedade ameaa com o isolamento o indivduo que se
desvia de um padro; a terceira retrata que a consequncia do medo leva o indivduo a
captar correntes de opinio e a quarta hiptese que os resultados desse clculo afeta a
expresso ou a ocultao de suas opinies. Assim, podemos considerar que seu estudo
fundamenta-se no argumento de que as pessoas que tm uma opinio, um ponto de vista
minoritrio, tendem a cair no silncio ou no conformismo, perante a opinio pblica
geral.
Para este estudo, abordaremos a Espiral do Silncio, conforme Antnio
Hohlfeldt, que a considera sendo uma hiptese, e no uma teoria:
[...] Uma hiptese sempre uma experincia, um caminho a ser
comprovado e que, se eventualmente no der certo naquela situao
especifica, no invalida necessariamente a perspectiva terica. Pelo
contrrio, levanta, automaticamente, o pressuposto alternativo de que
uma outra variante, no presumida, cruzou pela hiptese emprica,
fazendo com que, na experincia concretizada, ela no se
confirmasse (HOHLFELDT, 2001, p.189).
Estudo cientfico da opinio pblica atravs de pesquisas de opinio. Significado disponvel em:
<http://etimologias.dechile.net/?demoscopia>. Acesso em: 20 maio.2014.
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao
XXXVII Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao Foz do Iguau, PR 2 a 5/9/2014
J a teoria um paradigma fechado, um modo acabado e, neste sentido, infenso
a complementaes ou conjunes, pela qual traduzimos uma determinada realidade
segundo um certo modelo (HOHLFELDT, 2001, p.189).
Nouelle-Neumann defende que a caracterstica mais importante da opinio
pblica o poder dominante que esta exerce, tanto no Governo, como em cada
indivduo que compe uma sociedade. A autora destaca que devemos entender o
pblico como um tribunal, como um jri ante o qual devemos nos comportar de maneira
correta, para evitarmos o isolamento, ou seja, a alienao da vida pblica. Essa noo de
opinio pblica como controle social invisvel aos olhos da sociedade (NOELLENEUMANN, 1995).
O estudo de Noelle-Neumann tambm analisa o papel relevante dos meios de
comunicao de massa para a formao da opinio pblica. A Espiral do Silncio
baseia-se na tese de que os meios de comunicao so a fonte mais importante de
observao da realidade com que o indivduo pode contar, para saber quais so as
opinies dominantes e quais conduzem ao isolamento. Para a autora,
a comunicao pode dividir-se em unilateral e bilateral (uma
conversao, por exemplo, bilateral), direta e indireta (uma
conversao direta), pblica e privada (uma conversao privada).
Os meios de comunicao de massa so formas de comunicao
unilaterais, indiretas e pblicas. Contrastam pois, de maneira tripla,
com a forma de comunicao humana mais natural, a conversao.
Por isso, os indivduos se sentem desvalidos diante dos meios de
comunicao.[...] Essa impotncia se expressa de duas formas. A
primeira ocorre quando uma pessoa almeja conseguir a ateno
pblica, e os meios, em seu processo de seleo, decidem no lhe
prestar ateno. [...] O segundo aspecto da impotncia entra em jogo
quando os meios de comunicao so utilizados como um pelourinho,
quando orientam a ateno pblica annima, entregando-lhe o
indivduo como bode expiatrio para ser exibido. No pode defenderse. No pode desviar-se das pedras e flechas. As formas de rplicas
so grotescas pela sua debilidade, por sua torpeza em comparao
com a clara objetividade dos meios (NOELLE-NEUMAN, 1995,
p.204)8.
A autora resumiu, assim, essa pontual influncia da mdia naquilo que domina os
princpios de consonncia e de acumulao, segundo os quais os meios de comunicao
e os jornalistas insistem em retratar os mesmos temas e adotam as mesmas posies,
chamando a ateno do pblico.
Traduo livre do espanhol, pela autora.
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao
XXXVII Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao Foz do Iguau, PR 2 a 5/9/2014
10
VEJA em prol do silenciamento
Pouco antes do Ato Institucional n.5, j em pleno Regime Militar (1964-1985),
surge uma revista at hoje presente na vida dos brasileiros e que, atualmente, figura
como o semanrio brasileiro de informao com maior circulao e tiragem. Estamos
nos referindo a Veja, cuja primeira edio data de 11 de setembro de 1968.
No ano de 1967, o empresrio Victor Civita, dono da Editora Abril, convidou o
jornalista Mino Carta para dirigir uma revista semanal de informaes, que fora
idealizada por seu filho, Roberto Civita.
Em sua fase inicial, Veja enfrentou srios problemas com os rgos de censura,
com edies mutiladas e/ou apreendidas, at porque, de acordo com Werneck et al.
(2000), um dos fundamentos da linha editorial adotada era a oposio ao regime militar,
sem abrir mo de expor opinies crticas.
Contudo, com pouco tempo de existncia da revista, as coisas mudam. Em 13
de dezembro de 1968 quando entra em vigor o Ato Institucional nmero 5, a represso
no mais atingia somente os militantes de esquerda, mas tambm membros das classes
mdia e alta, supostamente envolvidos com o comunismo. Prises, torturas e
desaparecimentos se tornaram rotina para uma parte do clero, lderes de movimentos
populares, comerciantes, estudantes e jornalistas.
Na semana em que foi decretado o AI-5, a censura se intensificou na redao de
Veja. Para evitar problemas com censores, a revista passou por diversas inovaes, que
acabaram modificando o semanrio e deixando-o adequado para ser publicado durante o
regime militar.
As empresas de comunicao sofreram o duro golpe da censura, que duraria
cerca de oito anos, para a maioria dos veculos. Para alguns mais, outros menos, de
acordo com o grau de confiabilidade que demonstravam em acatar as ordens do governo
e de praticarem a autocensura. Assim, apoiando explicitamente ou se calando, muitos
veculos permaneceram na retaguarda do poder, durante quase duas dcadas (BAHIA,
1990).
A revista Veja, assim como o Estado de So Paulo, o Jornal da Tarde, o
Pasquim, Opinio, e O So Paulo (da Arquidiocese Paulista), so exemplos de
empresas de comunicao que sofreram o golpe da censura. Estiveram durante a
ditadura militar, sob censura permanente (censura prvia), onde tudo o que fosse
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao
XXXVII Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao Foz do Iguau, PR 2 a 5/9/2014
11
preparado por um jornal seria examinado pela polcia antes da divulgao (SMITH,
2000, p.95). Havia, portanto, censores residentes nas redaes destes meios de
comunicao.
Desta maneira, a censura tornou-se, alm de tudo, uma tarefa rotineira, que se
refletiu diretamente na maneira como a imprensa apoiou os projetos do governo
ditatorial ou manteve-se em silncio perante os ocorridos.
Os atores da imprensa, sujeitos censura prvia, compartilhavam de
uma experincia minoritria. compreensvel, ento, que suas
relaes recprocas eram cruciais para afirmar uma realidade bsica
(apesar das negativas surrealistas do governo e da censura da censura),
para interpretar os fatos e para validar a experincia. Eles
compartilhavam a tenso, a ira, a frustrao decorrentes da sujeio
censura prvia.
Em mais de um caso a partilha de experincia subjetiva evoluiu para
tornar-se um ritual. Marcos S Corra recorda a cerimonia do ch
na Veja: o que comeou como um hbito, uma prtica para manternos acordados em tantas madrugadas de espera pela volta do material
censurado, transformou-se na experincia do ch. Durante tantas
semanas, ficvamos acordados de quinta-feira at o sbado. Naquela
poca podiam ser comprados finos chs importados. Acrescentamos
taas de porcelana, toalhas de mesa de linho, ch ingls. Era um jeito
de ficar acordados, uma brincadeira um jogo, um ritual, um encontro
no meio da noite, compartilhando(SMITH, 2000, p.116).
O contexto poltico em que Veja nasceu foi fundamental para sua histria. Sob
os moldes da publicao norte-americana Time, sua inteno inicial foi ser uma resenha
da semana, com espao para coberturas exclusivas e com destacado vis interpretativo.
Assim, a partir dos primeiros exemplares, j se caracterizava por um texto pessoal e
padronizado.
Diante da atuao de Veja, logo aps a publicao do AI-5 em dezembro de
1968, nos propusemos a empreender o processo analtico que procura pelos vestgios de
comportamento da revista em prol do silenciamento da opinio dos contrrios,
inclusive, dela mesma. O estudo procurou compreender a forma como a revista Veja se
posicionou durante o perodo da ditadura-militar (1964-1985), especificamente no
primeiro ano de existncia do Ato Institucional n 5.
A presente investigao tem como objeto de pesquisa, como foi dito, a revista
Veja, e a amostra compe-se dos exemplares publicados entre dezembro de 1968 e
dezembro 1969, ao todo 16 (dezesseis) edies, que foram selecionados, a partir da
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao
XXXVII Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao Foz do Iguau, PR 2 a 5/9/2014
12
aplicao do mtodo de definio de amostragem aleatria simples e por sorteio. A
seguir, realizamos o processo analtico a partir do contedo veiculado.
As edies
analisadas
foram:
n15 (12/12/1968);
n16 (25/12/1968);
n17 (01/01/1069); n21 (21/01/1969); n25 (16/02/1969); n28 (19/03/1969);
n33 (23/04/1969); n37 (21/05/1969); n 40 (11/06/1069); n42 (25/06/1969);
n46 (16/07/1969); n49 (13/08/1969); n53 (10/09/1969); n 57 (01/10/1969);
n62 (12/11/1969) e; n68 (24/12/1969).
Partindo do pensamento de Noelle-Neumann, para quem os mass media podem
influenciar o processo da espiral do silncio, pois exercem grande influncia na
formao da opinio pblica no contexto social, que nos embasamos para utilizar a
referida hiptese, no presente trabalho analtico.
Conforme Anne-Marie Smith (2000) os militares, quando tomaram o governo
em 1964, precisavam garantir uma imagem positiva do regime e manter sua legalidade.
Para isso, era necessrio valer-se de medidas repressivas, a fim de legitimar seu poder.
Alm das aes restritivas que, ao longo do regime, foram sendo amparadas por
decretos institucionais, havia, desde o princpio, a forte ideologia propagada por uma
doutrina de segurana nacional, de estado de guerra interna do combate a subverso e
ao comunismo.
A censura aos meios de comunicao no regime militar, enquadra-se nessa
concepo de ideologia poltica, segundo a qual, o poder, munido de recursos
ideolgicos consegue modelar a sociedade de acordo com seus ideais. Entretanto, a
censura, no Brasil, pode se manifestar, mesmo que de forma implcita, em diversas
situaes em que os prprios meios de comunicao, por convenincias variadas,
deixam de publicar determinados assuntos de valor pblico, mostrando-se coniventes
com os interesses do poder vigente.
No contexto da ditadura militar, principalmente, aps 1968, grande parte dos
veculos de comunicao de grande circulao se submeteu aos ditames do regime,
alguns devido censura, outros porque realmente eram a favor do sistema poltico.
Existia tambm, a chamada autocensura, pela qual o prprio meio se precavia cortando
determinadas matrias que pudesse comprometer a publicao.
J no perodo de vigncia do Ato Institucional n. 5, houve uma intensificao da
censura imprensa e, a partir de ento, esta se tornou uma prtica rotineira, os mdias
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao
XXXVII Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao Foz do Iguau, PR 2 a 5/9/2014
13
acataram as ordens e instrues emanadas dos altos escales de poder. O AI-5 forneceu
suporte legal censura mdia.
Diante da anlise realizada, percebemos que a revista Veja trabalhou e
contribuiu para a formao do que se denominou consenso forjado, atravs de um
consentimento da publicao para com as aes do regime, o que se refletiu no que era
veiculado ao pblico. O consentimento segundo Smith (2002, p.10),
[...] tambm segue um continuum desde o endosso da represso e aparente
acatamento at a obedincia s regras para proveito prprio e o que
poderia ser chamado de modalidades dirias de inrcia. Essas
constituem um padro de aceitao cotidiana da represso, de
cumprimentos das normas e de comportamento esperado, sem que
haja necessariamente uma atribuio de legitimidade ao sistema de
dominao.
Assim, nota-se que, diante do cenrio poltico em que se encontrava Veja, nos
anos de 1968 e 1969, esta manteve um posicionamento de defesa, ou melhor, um
consentimento ao regime, apresentando contedos em suas matrias que elogiavam os
projetos do governo e os avanos com o AI-5. A revista silenciou os reais
acontecimentos, as consequncias e interesses da ditadura e passou opinio pblica a
imagem de um governo legtimo e atuante em prol da populao.
A sua primeira edio, aps o surgimento do AI-59, trouxe como chamada o
prprio ato e como foco de atrao, na capa, uma foto do presidente Costa e Silva,
sozinho em um plenrio vazio ( vide Figura 2).
FIGURA
2 Revista Veja edio 15 dez. 1968
Fonte: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
9
Edio n15 (12/12/1968)
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao
XXXVII Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao Foz do Iguau, PR 2 a 5/9/2014
14
O ttulo da matria principal da edio de nmero 15 foi Revoluo, Ano
Zero. A reportagem realizou uma grande retrospectiva da Revoluo de 1964,
relatando que o movimento militar aconteceu para defender o desenvolvimento e bemestar do seu povo (VEJA, n15, 1968, p.16). Tambm foi enfatizado que o governo de
Costa e Silva anunciou a regncia do Ato Institucional n.5 como sendo portador de
meios necessrios e instrumentos legais, para, assegurando a ordem e tranquilidade,
realizar os propsitos e os fins da Revoluo de maro de 1964 (VEJA, n15,1968,
p.16).
FIGURA 3 Revista Veja edio 15 dez. 1968, p.16-17.
Fonte:http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
A mesma matria aborda que o AI-5 foi um ato de anlise:
O Ato Institucional no deixa de ser uma autocritica da Revoluo,
onde o partido do governo no escapa a censura no prembulo. E na
decretao do recesso do Congresso por tempo indeterminado est o
sinal mais evidente de uma nova fase em que a Revoluo se reinicia
sem a classe poltica que no quis ou no pode integrar-se no processo
revolucionrio (VEJA, n15, 1968, p.17).
Ainda segundo Veja, o AI-5 " [...] o mais drstico de todos os atos editados e
deve-se pensar segundo revelaes de uma fonte militar que ele foi feito para ser
tambm o ltimo, o definitivo. ltimo e definitivo porque bastaria para assegurar a
ordem. Assim, o dia 13 de dezembro passa a constituir o Ano Zero da Revoluo
(VEJA, n15,1968, p.17).
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao
XXXVII Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao Foz do Iguau, PR 2 a 5/9/2014
15
Nas pginas de Veja, os estudantes e os cidados, em geral, que enxergavam as
reais intenes da ditadura civil-militar e se revoltaram contra o regime, eram
considerados terroristas que precisavam ser parados e punidos.
A reportagem O
Governo, os assaltos e o terrorismo (VEJA, n15,1968, p.23) mostra claramente uma
das justificativas da existncia do AI-5 pois, segundo a revista, o ato institucional veio
facilitar o combate aos terroristas e aos assaltantes polticos.
O que podemos perceber da anlise que a revista procurou construir uma
imagem negativa dos guerrilheiros, associando-os ao banditismo e subverso. Uma
estratgia utilizada por Veja para caracterizar os guerrilheiros como criminosos foi a
adoo da palavra terror, para nomear a seo que tratava dos casos de guerrilha
interna.
Veja caracterizou os atentados como fruto de especialistas. Os guerrilheiros
agiriam com sangue frio, preciso, imaginao, habilidade. Veja atuou de modo a
criar um ambiente de medo e pavor entre seus leitores, pois no apresentou os objetivos
das aes de resistncia armada que, atravs de diferentes modos e ideologias,
pretendiam acabar com a ditadura e instaurar o socialismo ou o comunismo no Brasil.
A anlise constatou tambm a prtica de Veja em suscitar a necessidade de
combate guerrilha e em potencializar a represso, insinuando que as aes armadas,
praticadas pelos guerrilheiros, poderiam estar visando causas particulares, e no projetos
coletivos de oposio. Objetivando justificar o incremento da represso, por parte dos
militares, Veja adotou, como estratgia discursiva, a culpabilidade dos guerrilheiros
pelo aumento da violncia militar. Segundo a revista, para enfrentar o terrorismo
preciso ser um terrorista (VEJA, n62, 1969, p.23).
O exemplo mais claro disto, so os acontecimentos envolvendo a morte do seu
principal lder, Carlos Marighella. A 12 de novembro de 1969, na edio de nmero 62,
Veja dedicou uma matria de capa para falar da morte de Marighella. Com o ttulo O
terrorismo morreu com Marighella?, a revista utilizou-se de 12 pginas para relatar os
episdios e interpretaes sobre a morte do lder guerrilheiro. Quando a revista retratou
a participao de Marighella no enfrentamento policial que resultou em sua morte, Veja
procurou caracteriz-lo como vtima, j que o guerrilheiro nem chegou a pegar sua
arma durante o tiroteio. Veja pareceu reagir contra o exagero da represso ao
guerrilheiro, porm, a nfase dada na matria uma viso negativa sobre Marighella.
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao
XXXVII Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao Foz do Iguau, PR 2 a 5/9/2014
16
Alm da chamada provocante, a revista destaca trechos do Mini-Manual do
Guerrilheiro Urbano escrito por Marighella, apontando que o prprio lder no teria
seguido as instrues do seu Manual.
Ou seja, a revista procura desconstruir as
qualidades do guerrilheiro, em detrimento das opes escolhidas por Marighella para
conduzir suas aes.
FIGURA 7 Revista Veja edio 62 nov. 1969, p.22-23.
Fonte: http://veja.abril.com.br/acervodigital/home.aspx
De acordo com a anlise, verifica-se que mesmo havendo uma contestao
manipulao dos fatos envolvendo a morte de Marighella, a finalidade da matria de
Veja no era de defesa dos guerrilheiros, mas sim, de adequao e consentimento aos
atos do governo ditatorial.
A revista, assim como, grande parte da mdia, tratou de construir seu discurso de
maneira a estabelecer parmetros que no buscassem um questionamento mais radical
da ditadura militar, reafirmando o que diz Machado (2014, p.12), em seu livro 1964Golpe miditico-civil-militar: [...] Depois do AI-5 e da introduo da censura nas
redaes, parte dessa imprensa trabalharia para alternar as narrativas sobre si mesma de
maneira a ter um novo e mais bonito papel no regime militar.
Nesse cenrio, embora os grandes empresrios de comunicao estivessem
insatisfeitos com os rumos do regime militar, eram complacentes, visto o extraordinrio
crescimento patrimonial advindo de emprstimos e investimentos governamentais. Veja
cresceu e se consolidou durante o perodo da ditadura militar.
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao
XXXVII Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao Foz do Iguau, PR 2 a 5/9/2014
17
CONSIDERAES FINAIS
A mdia disse sim antes, durante e depois do golpe
(MACHADO, 2014, p.88).
Percebemos a revista Veja como um lugar de articulao de interesses que tem
desempenhado muito bem o papel de defensora de projetos poltico-empresariais de
alguns setores, ao longo de toda a sua trajetria.
Veja, assim como boa parte da mdia brasileira, de um modo geral, inibiu-se
diante da censura imposta pelo governo militar. Em nossa anlise, detectamos que, em
muitas edies, o foco principal foi a poltica internacional. Em alguns momentos, mais
parecia uma revista sobre os acontecimentos do mundo. A ida do homem Lua, por
exemplo, foi presena marcante nas edies analisadas. O espao reservado para o
Brasil em Veja era bem definido para retratar os acontecimentos da poltica brasileira
sempre sob um ngulo favorvel ao regime, ou, quando no, mostrando uma certa
neutralidade, retratando os acontecimentos, mas sem atacar de frente o governo.
O trabalho nos permitiu visualizar as estratgias da revista, ao abordar temas
relativos ao regime poltico ditatorial vigente, como tambm, identificar os modos como
a opinio pblica foi influenciada. Veja no deixou transparecer que o pas vivia sob
uma ditadura militar. Pelo contrrio, a revista enquadrou seu discurso de maneira a
parecer uma democracia aperfeioada, em que as pessoas levavam sua vida normal,
sem represso ou explorao.
Os esforos do regime em busca da legitimidade com base na
democracia proporcionavam imprensa uma oportunidade para firmar
sua liberdade, na medida em que uma imprensa livre pode ser
considerada um pilar dos sistemas democrticos. No entanto, enquanto
uma democracia aberta exigiria uma imprensa livre, talvez uma
democracia aperfeioada tambm impusesse uma imprensa
aperfeioada sob a tutela dos militares (SMITH, 2000, p.47).
Com a censura prvia, foi ficando cada vez mais difcil honrar os direitos
bsicos de liberdade de informao. Para os profissionais que atuavam com notcias e
reportagens polticas, o trabalho ficou mais e mais limitado, alm de se transformar em
processo de negociaes entre reprter, editor e censor. O material era previamente lido
pelo censor, que eliminava os temas inaceitveis, de tal forma que, com frequncia, as
reportagens vetadas deveriam ser substitudas.
Assim, Veja, no primeiro ano de
Intercom Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicao
XXXVII Congresso Brasileiro de Cincias da Comunicao Foz do Iguau, PR 2 a 5/9/2014
18
existncia do AI-5, manteve-se sob os pressupostos da hiptese de Espiral do Silncio.
De um lado, no se manifestou contra a opinio da maioria manipulada, que se
transformava paulatinamente em consenso forjado; de outro, calou-se e aceitou os
ditames e a poltica de coero s liberdades necessrias para a vida em sociedade,
sobretudo, a de informao.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BAHIA, Juarez. Jornal, histria e tcnica: Histria da imprensa brasileira. So Paulo:
tica, 1990, 4 ed.
BARDIN, Laurence. Anlise de contedo. Lisboa; Edies 70, LDA, 2009
CALDEIRA, Jorge et al. Viagem pela histria do Brasil. So Paulo: Companhia das
Letras, 1997
CORRA, Thomaz Souto. A era das revistas de consumo. In: LUCA, Tnia; MARTINS, Ana
Luiza (orgs). Histria da imprensa no Brasil. So Paulo: Contexto, 2008.
FAUSTO, Boris. Histria concisa do Brasil. So Paulo: USP, 2010.
FOUCAULT, Michel. Microfsica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1996.
HOHLFELDT, Antonio; MATINHO, Luiz. C; FRANA, Vera Veiga (Org). Teorias da
comunicao: Conceitos, escolas e tendncias. Petrpolis-RJ: Vozes, 2001.
MACHADO. Juremir. 1964- Golpe miditico-civil-militar. Porto Alegre: Sulina, 2014.
MEDEIROS, Jos. 50 anos de fotografia. Rio de Janeiro: Funarte, 1986.
NOELLE-NEUMAN, Elisabeth. La espiral del silencio- opinin pblica: nuestra piel social.
Barcelona. Paids Ibrica, 1995.
PLANALTO.
Lei
n
4341.
Disponvel
em:
<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4341.htm>. Acesso em: 20 mai. 2014.
PLANALTO. Ato n.5. Disponvel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-0568.htm>. Acesso em: 20 mai. 2014.
SIGNIFICADO. disponvel em: <http://etimologias.dechile.net/?demoscopia>. Acesso em: 20
maio.2014.
SMITH, Anne-Marie. Um acordo forado: O consentimento da imprensa censura no
Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2000.
VEJA. Disponvel em : < : http://veja.abril.com.br/acervodigital/ > / Acesso em 15 de maio de
2014.
VICENTINO, Cludio; DORIGO, Gianpaolo. Histria para o ensino mdio: Histria geral e
do Brasil. So Paulo: Scipione, 2001.
WERNECK, Humberto et al. A revista no Brasil. So Paulo: Abril, 2000.
Você também pode gostar
- Dimensões do Político: temas e abordagens para pensar a História PolíticaNo EverandDimensões do Político: temas e abordagens para pensar a História PolíticaAinda não há avaliações
- Censura Na Ditadura MilitarDocumento2 páginasCensura Na Ditadura MilitarAMERICOMORAESAinda não há avaliações
- A Ditadura Militar e A Censura No Jornal Impresso (O Estado de São Paulo)Documento13 páginasA Ditadura Militar e A Censura No Jornal Impresso (O Estado de São Paulo)nadjadiasAinda não há avaliações
- Ente01 Mod07 PDFDocumento3 páginasEnte01 Mod07 PDFLuizdeonAinda não há avaliações
- A Imprensa Itabunense No Contexto Da Ditadura Militar 1964-1978Documento11 páginasA Imprensa Itabunense No Contexto Da Ditadura Militar 1964-1978Rafaela BorgesAinda não há avaliações
- 7 - Censura e Repressão No Regime MilitarDocumento10 páginas7 - Censura e Repressão No Regime MilitarDario PousoAinda não há avaliações
- Democracia e MercadoDocumento44 páginasDemocracia e MercadoMaria catarinaAinda não há avaliações
- Alteridade,+864 4784 1 PB PDFDocumento11 páginasAlteridade,+864 4784 1 PB PDFGilmar AraújoAinda não há avaliações
- Trabalho Ev140 MD7 Sa100 Id5144 10092020211103Documento15 páginasTrabalho Ev140 MD7 Sa100 Id5144 10092020211103Giuliana Luiza Dall PonteAinda não há avaliações
- Um Estudo Da Ditadura Militar Brasileira Através de PeriódicosDocumento10 páginasUm Estudo Da Ditadura Militar Brasileira Através de PeriódicosVitor de AndradeAinda não há avaliações
- Democracia e MercadoDocumento39 páginasDemocracia e MercadoFARK BRAinda não há avaliações
- História 2 Série Nivelamento N9Documento15 páginasHistória 2 Série Nivelamento N9Vinicius LírioAinda não há avaliações
- Agenda Conservadora. Marcha Pela FamíliaDocumento10 páginasAgenda Conservadora. Marcha Pela FamíliaRosânia CamposAinda não há avaliações
- Presos Politicos e A Farsa Das Torturas PDFDocumento10 páginasPresos Politicos e A Farsa Das Torturas PDFEuclebson BarrosAinda não há avaliações
- SEMINÁRIODocumento10 páginasSEMINÁRIOmaryfonsecaa19Ainda não há avaliações
- O Jornal Batista No Mês Seguinte Ao Golpe de 1964Documento15 páginasO Jornal Batista No Mês Seguinte Ao Golpe de 1964Rafael DantasAinda não há avaliações
- MEMÓRIA E ENSINO DE HISTÓRIA: Representação Da Ditadura Civil Militar Por Moradores de Conceição Do AraguaiaDocumento15 páginasMEMÓRIA E ENSINO DE HISTÓRIA: Representação Da Ditadura Civil Militar Por Moradores de Conceição Do AraguaiaHistória IFPAAinda não há avaliações
- Apostila de Historia para EnemDocumento73 páginasApostila de Historia para EnemromanagiraoAinda não há avaliações
- Ditadura Militar No Brasil Resumo, Causas e Fim - Toda MatériaDocumento1 páginaDitadura Militar No Brasil Resumo, Causas e Fim - Toda MatériaDantonAinda não há avaliações
- Ditadura Militar Estudar AvaliaçãoDocumento15 páginasDitadura Militar Estudar AvaliaçãoAlejandro Corral100% (1)
- Partidos Políticos No Brasil: Aula 4Documento11 páginasPartidos Políticos No Brasil: Aula 4Ricardo FerreiraAinda não há avaliações
- Aula 22 - Governos MilitaresDocumento67 páginasAula 22 - Governos MilitaresCynthia NarkunasAinda não há avaliações
- A Influência Da Mídia No Período Ditatorial BrasileiroDocumento15 páginasA Influência Da Mídia No Período Ditatorial BrasileiroGabriela LauriaAinda não há avaliações
- Avaliação Produção de Material LucianaDocumento5 páginasAvaliação Produção de Material LucianaJean NogueiraAinda não há avaliações
- A Reestruturação Do Ensino Superior No Regime Militar de 1964 A 1968Documento29 páginasA Reestruturação Do Ensino Superior No Regime Militar de 1964 A 1968Pati CaldeiraAinda não há avaliações
- Ditadura Civil MilitarDocumento5 páginasDitadura Civil MilitarIsmael CarvalhoAinda não há avaliações
- Antonio Gramsci e A Influência Da Dialética Na Educação BrasileiraDocumento9 páginasAntonio Gramsci e A Influência Da Dialética Na Educação BrasileiraJoão Tiago Porto Veloso LealAinda não há avaliações
- Pmagal, Leandra Nascimento FonsecaDocumento19 páginasPmagal, Leandra Nascimento FonsecaTakansAinda não há avaliações
- História 1Documento4 páginasHistória 1Gabriel RufinoAinda não há avaliações
- Pos Edital Policia Militar de Goias Cadete 2016 Realidades de Goias P PM Go Soldado e Cadete Aula PDFDocumento76 páginasPos Edital Policia Militar de Goias Cadete 2016 Realidades de Goias P PM Go Soldado e Cadete Aula PDFMarcos Bruno SilvaAinda não há avaliações
- Juventude e DitaduraDocumento12 páginasJuventude e DitaduraHal WildsonAinda não há avaliações
- Apresentação Ditadura MilitarDocumento15 páginasApresentação Ditadura Militardxw48mjsbgAinda não há avaliações
- Projeto de Pesquisa Greves de FomeDocumento25 páginasProjeto de Pesquisa Greves de FomeCarolina AlbuquerqueAinda não há avaliações
- A "Redemocratização" Do Brasil: Convergências Entre o Projeto Político Da Folha deDocumento19 páginasA "Redemocratização" Do Brasil: Convergências Entre o Projeto Político Da Folha deericmaiaAinda não há avaliações
- Anpuh - Xxiii Simpósio Nacional de História - Londrina, 2005Documento8 páginasAnpuh - Xxiii Simpósio Nacional de História - Londrina, 2005Jefferson MarquesAinda não há avaliações
- Estudo DirigidoDocumento3 páginasEstudo DirigidoLuana SantosAinda não há avaliações
- A Exceção e A Regra: Bolsonaro e o Legado Da Ditadura de JanainaTelesDocumento6 páginasA Exceção e A Regra: Bolsonaro e o Legado Da Ditadura de JanainaTelesJanaína de Almeida TelesAinda não há avaliações
- Ditadura MilitarDocumento11 páginasDitadura Militarqfcb8dfvj8Ainda não há avaliações
- Nos Tempos Do Autoritarismo o EnsinoDocumento17 páginasNos Tempos Do Autoritarismo o EnsinoValadares Manoel da SilvaAinda não há avaliações
- Sanfelice, J. L. (2008) - O Movimento Civil-Militar de 1964 e Os IntelectuaisDocumento22 páginasSanfelice, J. L. (2008) - O Movimento Civil-Militar de 1964 e Os IntelectuaisRodolfo RodriguesAinda não há avaliações
- Aula 11Documento28 páginasAula 11Admara TitonelliAinda não há avaliações
- Dialnet OGolpeCivilMilitarEmPernambuco 6238545Documento16 páginasDialnet OGolpeCivilMilitarEmPernambuco 6238545Bigode AmbulânciaAinda não há avaliações
- 05 - Educação No Período Populista BrasileiroDocumento13 páginas05 - Educação No Período Populista BrasileiroLucasAinda não há avaliações
- Relatório Final Pibic 2020-2021. Elber SoaresDocumento16 páginasRelatório Final Pibic 2020-2021. Elber SoaresElberAinda não há avaliações
- TCC Artigo KeilaDocumento15 páginasTCC Artigo KeilaJessica OliveiraAinda não há avaliações
- 3º Ano - Revisão - HistóriaDocumento8 páginas3º Ano - Revisão - HistóriaLavinia KaylaAinda não há avaliações
- Ditaduras Na América LatinaDocumento10 páginasDitaduras Na América LatinaMarlon Cordeiro da FonsecaAinda não há avaliações
- Governo Militar - Parte IIDocumento23 páginasGoverno Militar - Parte IIalberto.fasbam2023Ainda não há avaliações
- Mitos Da História Do Brasil - Diferentes Versões de Uma Mesma História - 1964Documento2 páginasMitos Da História Do Brasil - Diferentes Versões de Uma Mesma História - 1964Ana Maria OliveiraAinda não há avaliações
- General Humberto de Alencar Castello Branco (1964-1967)Documento5 páginasGeneral Humberto de Alencar Castello Branco (1964-1967)Bárbara RebeccaAinda não há avaliações
- Ditadura Civil-Militar-O Discurso Oficial Versus ImprensaDocumento30 páginasDitadura Civil-Militar-O Discurso Oficial Versus Imprensaemillyflor2ncioAinda não há avaliações
- Pet 4 - 3º Ano - HistDocumento24 páginasPet 4 - 3º Ano - HistIDCP o desenhistaAinda não há avaliações
- 9 Ano Historia 11 - Quin 25033331Documento4 páginas9 Ano Historia 11 - Quin 25033331Kayla WolfKawaii100% (1)
- A Educação Escolar Durante o Período Do Estado NovoDocumento10 páginasA Educação Escolar Durante o Período Do Estado NovoSheila SantosAinda não há avaliações
- Artigo - Boris FaustoDocumento14 páginasArtigo - Boris FaustoRodrigo GomesAinda não há avaliações
- EmentaDocumento17 páginasEmentajessicagomes22Ainda não há avaliações
- Artigo TCC HistóriaDocumento21 páginasArtigo TCC HistóriaJoão SouzaAinda não há avaliações
- 3.1 Encontro Slides Unidade 3 Brasil Republicano BaseDocumento22 páginas3.1 Encontro Slides Unidade 3 Brasil Republicano BaserenatoAinda não há avaliações
- GTMIDIMP - LEMOS - CandidaDocumento17 páginasGTMIDIMP - LEMOS - CandidaCarla OdaraAinda não há avaliações
- Unidade 4Documento33 páginasUnidade 4Stefanía DalmolinAinda não há avaliações
- O Título, As Emoções e A UtopiaDocumento22 páginasO Título, As Emoções e A UtopiaEspaço ExperiênciaAinda não há avaliações
- O Telejornal em Qualquer Lugar: Uma Sondagem Sobre A Recepção de Notícias Nos Dispositivos PortáteisDocumento15 páginasO Telejornal em Qualquer Lugar: Uma Sondagem Sobre A Recepção de Notícias Nos Dispositivos PortáteisEspaço ExperiênciaAinda não há avaliações
- O Jornalismo Protagonista e o RádioDocumento15 páginasO Jornalismo Protagonista e o RádioEspaço Experiência0% (1)
- Estratégias Discursivas Da Publicidade Viral: Um Estudo Do Vídeo "Real Test Ride" Da Marca Harley DavidsonDocumento12 páginasEstratégias Discursivas Da Publicidade Viral: Um Estudo Do Vídeo "Real Test Ride" Da Marca Harley DavidsonEspaço ExperiênciaAinda não há avaliações
- Tecnologia & Arte: Uma Mudança de Paradigma?Documento15 páginasTecnologia & Arte: Uma Mudança de Paradigma?Espaço Experiência100% (1)
- As Cores No Deserto Vermelho de AntonioniDocumento9 páginasAs Cores No Deserto Vermelho de AntonioniEspaço ExperiênciaAinda não há avaliações
- Ditadura Militar DesenvolvimentoDocumento5 páginasDitadura Militar DesenvolvimentoAugustoSuarezAinda não há avaliações
- Opusculo Mal MarcioDocumento20 páginasOpusculo Mal MarciocavenancioAinda não há avaliações
- Ditadura Militar Brasileira - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento67 páginasDitadura Militar Brasileira - Wikipédia, A Enciclopédia LivreEmerson GutierrezAinda não há avaliações
- Prova e GabaritoDocumento23 páginasProva e GabaritoRobertão SrnAinda não há avaliações
- List A Crimes Dita DuraDocumento56 páginasList A Crimes Dita Durasamuel oliveiraAinda não há avaliações
- Slide Ditadura Militar-1Documento31 páginasSlide Ditadura Militar-1Keven Cordeiro100% (5)
- Veja e A Formação de Uma Opinião Pública Favorável Ao Regime MilitarDocumento18 páginasVeja e A Formação de Uma Opinião Pública Favorável Ao Regime MilitarEspaço ExperiênciaAinda não há avaliações
- Slides Ditadura MilitarDocumento38 páginasSlides Ditadura MilitarAnderson PradoAinda não há avaliações
- Ditadura Militar No BrasilDocumento45 páginasDitadura Militar No BrasilmassantAinda não há avaliações