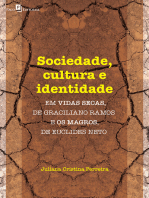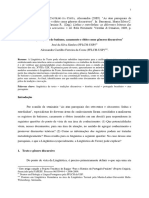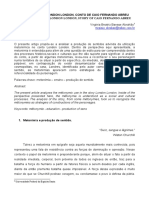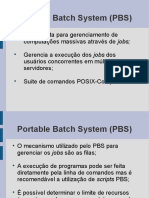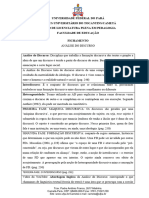Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Estudo Semiotico Terere
Enviado por
Silva KamiDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Estudo Semiotico Terere
Enviado por
Silva KamiDireitos autorais:
Formatos disponíveis
53
Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1
A SEMIOSFERA DO CH GELADO: UM OLHAR SEMITICO SOBRE
A CULTURA MESTIA DO TERER
Gicelma da Fonseca CHACAROSQUI TORCHI UFGD
(giondas@hotmail.com)
RESUMO
Nosso estudo investiga o ch gelado enquanto texto cultural usando como referencial terico a
Semitica da Cultura Russa. Lemos o terer enquanto prtica cultural, ou seja, um produto da
comunicao humana. O terer considerado um mecanismo gerador de sentidos e de modelos
codificadores dentro de uma semiosfera, de representatividade, relevante na constituio da
cultura mestia sul-mato-grossense.
Palavras-chave: terer; Semitica da Cultura; Cultura Sul-Mato-Grossense.
ABSTRACT
Our studyexamines the iced tea as a culturaltext using the Semiotics of the Russian Culture as
theoretical reference. We read the terer (Southern Mato Grosso iced tea) as a
cultural practice, that is to say, a product of human communication. Terer is considered a
mechanism which makes not only senses but also codifying modelswithin a semiosphere of
representativeness relevant in the constitution of the SouthernMato Grosso culture.
Keywords: terer; Cuture Semiotics; Southern Mato Grosso Culture.
Introduo
E cego o corao que trai
Aquela voz primeira que de dentro sai
E s vezes me deixa assim a
Revelar que eu vim da fronteira onde
O Brasil foi Paraguai
(Paulo Simes/Almir Sater, Sonhos Guaranis)
A Semitica da Cultura (SC) um referencial desenvolvido por um grupo de
pesquisadores da antiga Unio Sovitica Chamada de Escola de Trtu Moscou. Essa corrente
ETM abrange um legado de discusses que se desdobra sobre aspectos sociais, filosficos e
53
54
Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1
tecnolgicos que de alguma forma tm influncia sobre a produo sgnica de uma determinada
cultura e do conta de processos de significao e de comunicao de determinados grupos
sociais. Os pesquisadores da Escola de Trtu entendem a cultura como linguagem. O objetivo
desse paper mostrar como os conceitos bsicos dessa proposta so aplicados ao objeto de
anlise e reflexo sobre a cultura brasileira e sul-mato-grossense do terer. Os pesquisadores
da Escola de Trtu entendem a cultura como formas de expresso que vo alm da esfera social
e esto na cultura abarcando todos os aspectos da vida, ou seja cultura linguagem. So
fenmenos que conformam a cultura, por isso os russos se puseram a entender como se
manifestam, como produzem significado no cotidiano. Nas reflexes desse paper os estudos
por ns desenvolvidos baseados na ETM sustentam a anlise de que o fenmeno do ch gelado
terer como comunicao da cultura se manifesta nas mais diversas representaes dos
grupos sociais, aqui no caso, nos grupos sociais mestios da cultura sul-mato-grossense.
1. O terer com texto de cultura e recorte de lugar
O mundo inteiro uma fico. A chamada aldeia global no existe.
apenas uma construo. Eu sempre desconfio de tudo o que
apresentado como sendo global, pois falta sentido a esse conceito.
Meu ponto de partida so os valores. Estes podem at se tornar
mundiais, mas o ponto de partida local.
Milton Santos (2008)
Tomamos como ponto de partida a citao de Milton Santos pois nosso paper trata da
semiosfera do ch gelado, especificamente do uso cultural do terer no Mato Grosso do Sul,
estado do Centro Oeste brasileiro limtrofe com os pases sul-americanos do Paraguai (sul e
sudoeste) e Bolvia (oeste); alm de limitar-se com cinco estados brasileiros: Mato Grosso
(norte), Gois e Minas (nordeste), So Paulo (leste) e Paran (sudoeste). Fazemos, ento, como
afirma Hissa (2006) um recorte de mundo no interior do corpo do mundo. Do mesmo modo,
fazemos uma leitura semitica do terer como texto de cultura, como recorte de lugar, de
cidades, assim como recortes de territrio no interior do corpo do territrio. Ou seja, a
Semiosfera do terer (o ch gelado e amargo) como mecanismo de gerao de significado que
est imerso no espao cultural definido como semiosfera e suas semiosferas interiores (ou
subsemiosferas), especficas e particulares.
54
55
Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1
A Semitica da Cultura estuda os sistemas culturais em seu ncleo duro figura o
conceito da semiosfera em que os sistemas modelizantes de signos so focalizados atravs das
relaes dinmicas entre cdigos culturais responsveis pela gerao das linguagens da
cultura (MACHADO, p. 15, 2007). E no menos importante, temos o conceito de modelizao
que est relacionado ao processo de semiose, no qual uma linguagem ressignifica um modelo.
Desta forma, a Semitica da Cultura introduz uma nova concepo de texto no campo
do conhecimento cientfico, no vis proposto por Ltman (1978) ao se pensar o texto, como
sendo constitudo por inmeros subtextos e em permanente dilogo com vrios outros melhor
seria falar de um hibridismo, como designao de uma constituio multivocal e complexa,
avessa ao monolinguismo1.
Nessa composio hbrida, a noo de texto repleta de diferentes extratos de
significao fazendo com que a demanda da referencialidade seja mediada por distintos nveis
textuais, pois um texto convida sempre a participao de um outro texto, formando interseces
de sries textuais que constroem o dialogismo de (inter/intra) textos. Alis, a multivocalidade,
como um trao capital do texto , talvez, o aspecto que mais distingue o enfoque da Semitica
da Cultura e que a diferencia das demais disciplinas. Tal distino de abordagens pode ser
apreendida na exposio que Ltman (1998) faz sobre as trs funes do texto. So elas: 1)
funo comunicativa; e 2) funo geradora de sentidos; 3) funo mnemnica. Na funo
comunicativa, o trabalho da linguagem estaria na transmisso da mensagem que o emissor
tencionou passar ao receptor. E toda transformao da mensagem, no texto, ento considerada
como um rudo, uma desfigurao, um resultado de um mau trabalho do sistema. Conceito que
reconhece a importncia de que ...a estrutura tima da linguagem est representada pelas
linguagens artificiais e as metalinguagens, porque somente elas garantem a integridade
absoluta do sentido inicial. (LOTMAN, 1998, p. 86-87).
O texto cumpre tambm a funo de gerador de sentidos. Nesse caso, ele heterogneo
e heteroestrutural, constitudo como a manifestao de diversas linguagens. Por isso, como
adverte Lotman, a esta funo podemos cham-la de criadora. E se, no primeiro caso, toda
A partir de um sistema modelizante primrio, realizado prioritariamente pela lngua natural, Ltman desenvolve uma srie de
fundamentos que funcionam em sistemas no-verbais da cultura, denominados sistemas modelizantes secundrios. Em A
Estrutura do Texto Artstico (1978), Ltman descreve a arte como sistema semitico complexo e o fazer artstico como
construo de textos imbricados, possuidores de estrutura, expresso e limites prprios. LOTMAN, Iuri. A Estrutura do Texto
Artstico. Editorial Estampa: Lisboa: 1978
55
56
Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1
mudana de sentido no processo de transmisso um erro e uma desfigurao, no segundo ela
se converte em um mecanismo de gerao de novos sentidos (LOTMAN, 1998, p. 88). Dessa
maneira, o texto como funo criadora tem o rudo, enquanto decorrncia das complexas
relaes inerentes ao poliglotismo interno do texto, tornando-se responsvel pela criao de
novos sentidos.
A terceira funo do texto est ligada memria da cultura. O pensador russo afirma
que poderamos comparar o texto a uma semente, capaz de conservar e reproduzir a lembrana
de estruturas anteriores. Nessa acepo constata-se no texto uma tendncia simbolizao e a
sua converso em smbolos integrais e autnomos de sua conjuntura cultural. Assim, na
expresso do autor,
o smbolo separado atua como um texto separado que se transporta livremente
no campo cronolgico da cultura e que cada vez mais se correlaciona de uma
maneira complexa com os cortes sincrnicos da cultura, mas tambm na
diacronia desta (LOTMAN, 1998, p. 89).2
Assevera, ainda Lotman, quanto aos textos artsticos
...a ltima instncia dos textos artsticos est orientada a aumentar a unidade
interna e a clausura imanente dos mesmos, a sublinhar a importncia dos textos
e, por outro lado, a incrementar a heterogeneidade, a contraditoriedade semitica
interna da obra, o desenvolvimento de subtextos internos estruturalmente
contrastantes, que tendem a uma autonomia cada vez maior. (LOTMAN, 1998,
p. 79).
Da complexificao do texto artstico entendida ainda na capacidade dele se
relacionar com outros textos da cultura decorre o seu carter gestacional, dinmico e
mnemnico, sendo assim a memria no hereditria, que garante o mecanismo de
transmisso e conservao (MACHADO, 2003, p. 38).
Em A Estrutura do Texto Artstico (1978), Lotman nos informa que um texto pode ser
caracterizado por possuir: a) expresso (ou contedo) o que compe internamente o sistema
textual, dando-lhe encarnao material; b) delimitao (ou fronteiras) - limites que
circunscrevem o texto, criando oposies com outros textos cujos signos no entram no seu
2De
acordo com Lotman, existem ainda trs outros momentos: 1) o texto constitui-se como tal com a converso do enunciado
em uma forma ritualizada, codificada tambm mediante alguma linguagem secundria. 2) ocorre a criao de um texto de
segunda ordem, o qual encerra subtextos em linguagens e semioses diversas, dispostos no mesmo nvel hierrquico; o que
acarreta o conseqente surgimento de recodificaes complexas, de uma multivocalidade textual. 3) aparecem os textos
artsticos como textos tambm multivocais, mas acrescidos de uma unidade complementar, na medida em que os vrios
subtextos so (re)expostos na linguagem de uma arte dada gestos, cores, formas e palavras so traduzidos, por exemplo, para
a linguagem da dana (LOTMAN, 1996)
56
57
Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1
conjunto, e c) estrutura (ou forma) - uma organizao (gramtica) interna que o transforma, ao
nvel sintagmtico, num todo estrutural.
Desta forma, a compreenso do funcionamento de todos esses elementos que
constituem a organizao do texto, no sentido que lhe confere a Semitica da Cultura,
imprescindvel para que possamos entender, a obra, em anlise, como um texto que deve ser
pensado como uma referncia que transgride o limiar da fronteira viabilizando o rompimento,
para alm dos limites. Pois como afirma Ltman:
Os textos tendem simbolizao e se convertem em smbolos integrais. Os
smbolos adquirem uma grande autonomia de seu contexto cultural e
funcionam no somente no corte sincrnico da cultura, mas tambm na
diacronia desta (1996, p.89).
Enquanto Jakobson delineia a abordagem semitica da comunicao, a proposta de
Lotman avana rumo a uma Semitica da Cultura em que a comunicao , sobretudo, tarefa
de encontro entre diferentes cdigos, linguagens, sistemas culturais. Afinal, a cultura o espao
privilegiado da produo de signos fora do qual nem a comunicao nem a semiose so
possveis (LTMAN, 1996, p. 24).
Por sua vez, o conceito de semiosfera - que acompanha a maturidade do pensamento
semitico russo, fundamentado na teoria da biosfera do qumico V.I. Verndski e do
dialogismo de M. Bakhtin -, foi formulado por Ltman, para exprimir a cultura como um
organismo que no separa aspectos biolgicos de aspectos culturais. Ltman (1996) criou o
termo semiosfera, por analogia ao termo biosfera, para designar o funcionamento dos sistemas
de significaes de diversos tipos e nveis de organizao. Trata-se de um espao semitico,
dentro do qual se realizam os processos comunicativos e a produo de novas informaes.
impossvel haver semiose fora da semiosfera. O conceito de semiosfera corresponde portanto,
a conexo de sistemas e gerao de novos textos. Trata-se de um espao que possibilita a
realizao dos processos comunicativos e a produo de novas informaes, funcionando como
um conjunto de diferentes textos e linguagens. Podemos afirmar ento que estudar a semiosfera
investigar o fenmeno da semiose cultural, ou seja,
(...) assim como biosfera designa a esfera de vida do planeta (...) a semiosfera
designa o espao cultural habitado pelos signos. Fora dele, no entender de
Ltman, nem os processos de comunicao, nem o desenvolvimento de
cdigos e de linguagens em diferentes domnios da cultura seriam possveis.
Nesse sentido, semiosfera o conceito que se constituiu para nomear e definir
57
58
Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1
a dinmica dos encontros entre diferentes culturas (...) (MACHADO, 2007,
p. 16).
A semiosfera , portanto, o espao que possibilita a realizao de processos
comunicativos e a produo de novas informaes, funcionando como um conjunto de
diferentes textos e linguagens (PCOLO, 2010, p. 6). Alm de propor a percepo das relaes
entre sistemas sgnicos, a semiosfera norteia a reflexo a respeito da imprevisibilidade das
conexes entre os diversos sistemas de signos compartilhados ou em permanente interao que
podem se aproximar ou se distanciar em um dado espao cultural:
A ideia de que os encontros culturais so dialgicos e geradores de renovao
dos sistemas de signos foi a principal responsvel pelo questionamento que
levou Iri Ltman a investigar as relaes entre sistemas de signos no espao
da semiosfera (...). Ltman investiu na compreenso da dinmica de
encontros culturais no sentido de explicitar como duas culturas se encontram,
que tipo de dilogo elas travam entre si e como elas criam experincias
capazes de reconfigurar o campo de foras culturais. (MACHADO,
2007, p. 16).
A Semiosfera do terer compreende o estado do Mato Grosso do Sul, um estado
exuberante, abundante no s em recursos naturais, mas tambm de uma de rica e estratificada
cultura que traduz-se em significativas produes artsticas (msica, dana, literatura, teatro,
pintura, escultura, cinema, enfim, produes culturais de um modo geral), talvez resultante da
nossa herana ibrica e das inter-relaes culturais com pases vizinhos da Amrica Latina.
Somos parte de um Brasil que j foi Paraguai, herdeiros de costumes e tradies de povos
indgenas e de desbravadores que escolheram viver nesta regio. Como observa a crtica
cultural La Masina, ao abordar esta regio em particular: [...] trata-se de uma regio muito
semelhante a nossa [Sul do Brasil] por sua condio de fronteira viva, lindeira com um pas de
cultura tradicional espanhola como o Paraguai. Uma cultura que se forma, portanto, sombra
da histria local (MASINA, 2009, p. 10). Compreende tambm o Paraguai, pas limtrofe
com o Mato Grosso do Sul, lcus em que o uso do terer tradicional.
A erva-mate, antes da chegada dos espanhis ao territrio que hoje abarca o Paraguai,
era um produto da comensalidade indgena, especialmente dos Guarani. As folhas da
ilexparaguariensis eram mastigadas ou sorvidas com gua, alm de serem aspiradas sob a
forma de p em rituais. As propriedades reparadoras e alimentcias da erva eram, portanto, do
conhecimento e utilizao dos indgenas (AMABLE; DOHMANN; ROJAS, 2012). Ao longo
58
59
Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1
do tempo, o mate se tornou a bebida predileta dentro e fora das reas de influncias dos
missionrios jesutas.
A importncia do consumo da erva-mate para a histria do antigo Sul de Mato Grosso,
deve-se tambm ao papel econmico que o vegetal teve de fins do sculo XIX a meados da
primeira metade do sculo XX.A importncia econmica e poltica da erva-mate, o ouro verde
de Mato Grosso, ou melhor, da Cia. Mate Laranjeira foi tamanha que nas primeiras dcadas do
sculo passado a empresa chegou a ter como rea de influncia aproximadamente cinco
milhes de hectares de terras empregando milhares de funcionrios, a maior parte paraguaios
e indgenas, especialmente os Guarani (ARRUDA, 1997, p. 17).
Entendendo que os encontros culturais desenham movimentos que esto na base de toda
cultura, afirmamos que o terer ilustra o dinamismo que est na base dos sistemas culturais
sul-mato-grossenses e que pode ser compreendido como manifestao da linguagem deste
estado pois se constitui como sistemas de signos que, mesmo marcados pela diversidade,
apresentam-se inter-relacionados num mesmo espao cultural, estabelecem entre si diferentes
dilogos, e o que seria visto como choque cultural e transforma-se em um encontro gerador de
novos signos.
Nesse sentido o terer visto como um processo da cultura, como texto que transmite
informao, gera sentidos e ainda funciona como memria dessa mesma cultura, ou seja no
apenas um produto dessa cultura, ou como afirma Ltman:
(...) el texto se presenta ante nosotros no como la realizacin de un mensaje
en un solo lenguaje cualquiera, sino como um complejo dispositivo que
guarda variados cdigos, capaz de transformar ls mensajes recibidos y de
generar nuevos mensajes, un generador informacional que posee rasgos de
una persona con un intelecto altamente desarrollado. (LTMAN, 2003, p. 5).
O locus do qual partimos, e citamos na epgrafe, um lugar de trnsitos, lugar onde
assim como se atravessa a rua, se atravessa a linguagem e as culturas, somos sujeitos
impregnados por esse trnsito, por essa mobilidade cultural, somos frutos de uma cultura
retalhosa, mosaica, em constante movimento ou com o afirma Hissa (2009) feitos de retina e
de histria. Nesses termos, por sua vez, o corpo do sujeito so os olhos do sujeito. O corpo do
mundo feito do sujeito que interpreta e experimenta o mundo. O corpo do mundo feito de
corpos de mundo, que sentem, percebem, pensam. O pensamento, contudo, bipartido.
admirvel nosso mundo retalhado sul-mato-grossense sempre refrescado pelo terer.
59
60
Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1
2. Terer como fenmeno cultural
A novidade que o Brasil
no s litoral,
muito mais, muito mais
que qualquer zona sul. [...]
(Milton Nascimento/Fernando Brant, Notcias do Brasil, 1981)
Ch, ou Tea, o terer ento um fenmeno cultural, situado no ntimo de uma sociedade
onde as informaes so trocadas. Para que esse fenmeno torne-se portador de um
determinado significado, deve fazer parte de um outro sistema, a fim de estabelecer relaes
com outros signos e no-signos. Ou seja o ch, ou o processo de beber o ch envolve
relacionamentos com outros sistemas como Kimena (gestos especiais encontrados em todas as
situaes de etiqueta, digamos, saudaes, despedidas, tapinhas, beijos, etc). Portanto podemos
afirmar que na estrutura do ch h aes processuais de sinais que envolve um ativo e contnuo
fluxo semitico, ou seja:
Representa, portanto, um ch de semiose. Como o caso com os outros
sistemas semiticos, este fluxo tambm heterogneo. A semiose do ch no
uma ao de um sinal, mas o tempo todo envolve uma multiplicidade de
sinais. Um sistema semitico deve apresentar uma estrutura mais complexa
do que as existentes em um nico sinal. Os sinais so sempre parte de um
sistema maior e so sempre acompanhados por outros sinais. Em Lotman
tradio semitica, que o sistema de maior pode ser chamado de texto (KULL,
2002, p. 329. Traduo nossa).
Trata-se, portanto, de um fenmeno cultural localizado no centro de uma coletividade
em que informaes so trocadas. Assim, notvel que o terer implica relaes com outros
signos, signos-objeto, signos icnicos e signos lingusticos. Na sua estrutura existem aes e
processos de signos o que implica em ativo fluxo semitico, diverso e contnuo:
Na semiosfera, o grau de organizao da cultura est na passagem da
organizao interna para a desorganizao externa, da ordem para o caos, da
podermos cham-la de ''contnuo semitico''. A simetria especular a prpria
ideia da semiosfera como intercmbio dialgico; um dos princpios
estruturais de organizao interna do dispositivo gerador de sentido; nela
aparece o fenmeno do duplo, da intratextualidade e um dos mais complexos
processos informacionais, o dialogismo, fundamento de todo o processo
gerador de sentido. (CHACAROSQUI-TORCHI, 2008, p. 113).
Fica claro que o terer supe uma semiose que a todo tempo envolve muitos outros
signos que so sempre parte de um sistema maior e sempre esto acompanhados por outros
signos e que segundo Ltman (2003) esse sistema maior pode ser chamado de texto, ou seja
60
61
Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1
El texto abarca tanto el discurso verbal como todas las produciones
semiticas, llegando a plantear la cultura como um macro-texto, una
semiosfera; donde se producen mltiples movimientos y diversos fenmenos
complejos (HERRERA, 2009/2010, p. 2).
A histria do terer e o espao cultural no qual se encontra inserido , deixa claro
que se trata no somente de uma bebida, ao contrrio, uma produo cultural antiga que
remonta ao perodo colonial e apreendido a partir do universo das relaes scio-histricas,
ou seja texto de cultura com imbricaes signicas diversas: o comportamento, o gesto, a roda
do terer ( grupo que se junta para tomar o mate), que passa de mo em mo, cada um que
recebe a cuia de terer deve sorver o mate at o final, no pode passar a cuia com sobra de
mate. Se algum agradece, no mais servido, sinal de que est satisfeito. O terer segue todo
um ritual.
2.1. Essa erva boa de beber
Essa erva boa de beber
xcara na xcara se chama ch
E l no sul chimarro
e por aqui terer...
terer, at rer....
(Emmanuel Marinho)
O terer atravessou e atravessa fronteiras e sua representao cultural se desenvolveu
de maneiras distintas com o passar do tempo e medida que se adaptou de uma sociedade para
outra. O terer, ou mate sorvido usando um bombilho (canudo para chupar a infuso).
Diferentemente do mate quente (chimarro), no terer a erva pode ser colocada em um vidro
(que tem mais capacidade volumtrica do que o porongo, o recipiente tradicional para mate).
No Paraguai e no Mato Grosso do Sul, o recipiente para o terer chama-se guampa e ,
geralmente, feito de chifre de boi e por vezes adornado com prata ou outro metal.
Trata-se, portanto, de um fenmeno cultural localizado no centro de uma coletividade
em que informaes so trocadas. Assim, notvel que o terer implica relaes com outros
signos, signos-objeto, signos icnicos e signos lingusticos e performticos. Na sua estrutura
existem aes e processos de signos o que implica em ativo fluxo semitico, diverso e contnuo
que habita o limite da fronteira
O marco de fronteira assume as funes de limite j que representa a linhalimite, de piquetes a cumprir propsitos de delimitao do territrio no campo
61
62
Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1
aberto da plancie. No entanto, o marco, o piquete ou a linha divisria tendem
a ser envolvidos pelas vagueaes da fronteira que, por natureza, contato,
zona de potencial litgio, transio que esgara limites. Por tais razes, os
limites, fixos, procuram preservar o seu ativo e permanente exerccio de
viglia. Tal exerccio, contudo, deseja a ocupao da fronteira, espao de
vagueaes a ser protegido (HISSA, 2009, p. 67)
O terer se aproveitando do espao de trnsitos da fronteira esgarou limites da zona
limiaridade e se colocando em contato com espao semiticos diversos, filtrou-se e adaptouse. Do tradicional mate gelado tomado na guampa, hoje temos o terer tomado no copo de
alumnio, no copo de vidro, misturado com limo, abacaxi e, at mesmo, tomado com
refrigerante. possvel encontrar terer descartvel (copo e bomba de plstico), a venda,
principalmente, em postos de gasolina.
Na sequncia, mostramos fotogramas do Filme Caramujo-flor de Joel Pizzini (curta
metragem de 1989), em que o cineasta nos brinda com uma cena que um flagrante da cultura
do Mato Grosso do Sul, em que as pessoas se renem em rodas para tomar o terer. Mesmo
durante o servio, os trabalhadores fazem pausas para tomar o mate gelado e se refrescarem.
uma bebida que raramente se toma desacompanhado. TERER (as denominaes indgenas
para a erva-mate so ca, ca-caati, ca-emi, ca-ete, ca-meriduvi e ca-ti.) a bebida mais
tradicional e popular do Paraguai, em conjunto com o mate que tambm servido na zona do
Rio da Prata (Argentina, Uruguai e no sul do Brasil, estado do Rio Grande do Sul, com o nome
de chimarro). O mate3 ligeiramente torrado e deixado em repouso durante oito meses em
local seco para s ento ser consumido com gua fria. O recipiente usado para se colocar a erva
a guampa, um chifre cortado ao meio preparado para ser utilizado como um copo. A bomba
o instrumento por onde o mate ser sugado e geralmente usada a de tubo chato, que se
adapta melhor ao bocal da guampa (podendo ser substituda pela de tubo redondo do
chimarro)4. Enquanto roda o terer, as pessoas trocam experincias, contam causos e
3A
Erva-Mate ou Ylex paraguariensis uma planta nativa da regio do Paraguai e a nica erva medicinal que leva o nome
do Paraguai. originria da regio Oriental do Paraguai de ambos os lados da Serra del Amambay e Maracaj, em lso
departamentos de Itapa , San Pedro, Guair, Amambay e Alto Paran. Quem se recorda dos livros de histria, poder ainda
lembrar-se da fazenda Santa Virgnia, Cia Mate Laranjeira. Inclusive a malha ferroviria desemboca em Ponta-Por, onde era
feito a colheita da erva. Plo de desenvolvimento da poca. substancialmente regional da herana Tupi-Guarani, j que eles a
utilizavam em forma de ch e logo depois da conquista e da colonizao, os jesutas generalizaram seu cultivo nos seus redutos,
arraigando assim as tradies e costumes do nosso povo. 100% natural, produz-se em forma totalmente ecolgica, a Ervamate no recebe nenhum tratamento qumico em nenhuma de suas fases de produo e processamento. Atua como estimulante
natural por seu contedo de matena; no produz hlito, e a mais saudvel das bebidas. Fonte: <http://www.terere.com.py>,
acessado 11/09/2014
4Maiores
informaes podem ser adquiridas no site <http://www.clubedoterere.com.br>.
62
63
Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1
histrias de assombrao, falam de caadas e pescarias, compartilham experincias
(FERNANDES, 2002, p. 22)5.
Assim, no h lugar mais favorvel manifestao da cultura popular, paraguaia, sulmato-grossense e pantaneira. O cineasta lana suas lentes sobre a guampa de terer para depois
focalizar uma roda de pessoas nativas do Pantanal declamando poemetos de Barros, inspirados
na literatura oral pantaneira. Importante lembrar que no decorrer da GEC (Gramtica
expositiva do Cho, Livro de Manoel de Barros publicado em 1990, o poeta em nenhum
momento, faz referncia ou utiliza a palavra terer ou algum sinnimo. Assim a cena avulta
seu significado de transmutao da cultura pantaneira em que Barros inspira muitos de seu
poemas. A cena ganha a novidade do balanar da cmera, num processo de aproximao e
distanciamento, que nos transporta para o ldico balanar das brincadeiras nos balanos
infantis.
Fotograma 1; Cor
Fotograma 3; Cor
Fotograma 2; Cor
Fotograma 4; Cor
Por termos essa caracterstica, por si s mestia, analisamos a representatividade do
costume cultural local de tomar ch gelado, o terer, como texto de cultura mestio. Sabemos
5C.f.
FERNANDES,Frederico Augusto Garcia. Entre histrias e terers: o ouvir da literatura pantaneira. So Paulo: Unesp, 2002.
63
64
Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1
que para Ltman (2003), natureza e cultura so sistemas que se implicam mutuamente. A
semitica da cultura atende necessidade crescente de conhecer linguagens produzidas pelos
diferentes sistemas culturais e como elas produzem significaes (MACHADO, 2007, p. 19).
Consideraes em processo de travessia
O serto est em toda parte
(...) travessia do serto a toda travessia (Guimares Rosa).
Cabe dizer que para alm da importncia econmica, poltica, que a erva-mate teve na
histria do atual Mato Grosso do Sul, permaneceu as diversas influncias dos elementos
paraguaio e indgena para a formao cultural, identitria dos sul-mato-grossenses. O costume
de tomar o terer uma dessas marcas, registrado de forma fenomenal como texto dramtico
e cultural por Paulo Correa de Oliveira, um dos grandes dramaturgos do estado em seu texto:
Mate e vida Terer.
O Mato Grosso do Sul possui 724 quilmetros de fronteira seca com o Paraguai e com
a Bolvia, o que certamente facilita o intercmbio de pessoas, ideias e afazeres entre os povos.
Ao todo so 44 municpios sul-mato-grossenses que integram a chamada faixa de fronteira.
Mate e vida Terer conta a histria dessa bebida que caracteriza pessoas, um determinado
grupo, e um espao, ou seja uma semiosfera cultural especfica.
Uma bebida que, juntamente com a erva-mate, atravessou e deixou marcas na histria
(econmica, poltica, social) do antigo Sul de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Num
texto cultural os traos da cor local e as circunstncias histricas, geogrficas e sociais so
inevitveis, pois o escritor est sempre rondando suas origens; s vezes, sem se dar conta, so
sempre essas origens que o seguem de perto, como uma sombra, ou mesmo de longe, como um
sonho ou um pesadelo (HATOUM, 1989, p.11)6 Ou como afirma Ltman, ao discutir O
problema do ator no cinema, a imagem do ator muito mais do que no teatro e nas artes
figurativas semitica, isto , carregada de significaes secundrias: ela aparece perante ns
como um signo ou como uma cadeia de signos de um sistema complexo de sentidos
complementares. (1978, p.151). Ainda segundo o ponto de vista de Ltman, a natureza do ator
em um filme dupla, pois ele ao mesmo tempo interprete de seu papel e um certo mito
HATOUM, Milton. Relato de um certo Oriente. So Paulo: Companhia das Letras, 2006.
64
65
Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1
cinematogrfico. Ou seja a significao de uma personagem no cinema compe-se da relao
(de concordncia, conflito, luta e distanciamento) entre estas duas organizaes semnticas
distintas. (1978, p.157).
A obra de arte, ou o texto, no caso mestia (o), no responde a uma inteno de
significao do artista, ou do leitor, mas abre-se a todas as interpretaes possveis. Por isto
nossa leitura uma das possibilidades de anlise, em processo de travessia, colhida no fulgor
de uma viso inicial de Semitica da Cultura, que permanece disponvel e atenta ao outro,
atravs de lgicas singulares, de realizao e variao, flutuantes e mestias, que se inscrevem
nos modos de organizao do pensamento e da leitura. Lembrando que propomos uma
semiosfera do terer que atravessa o serto do Mato Grosso do Sul locus limtrofe com o pas
irmo Paraguai.
Referncias
BARROS, Manoel de. Gramtica expositiva do cho: poesia quase toda. Rio de Janeiro:
Civilizao Brasileira, 1990
CHACAROSQUI-TORCHI, Gicelma da Fonseca. Por um cinema de poesia mestio: o filme
Caramujo-florde Joel Pizzini e a obra potica de Manoel de Barros. Programa de Ps
Graduao em Comunicao e Semitica, 2008. Tese (Doutorado)- Pontifcia Universidade de
So Paulo, 2008.
FERNANDES, Frederico Augusto Garcia. Entre histrias e terers: o ouvir da literatura
pantaneira. So Paulo: Unesp, 2002.
HATOUM, Miltom. Relato de um certo Oriente. So Paulo: Companhia das Letras, 2006
HERRERA, Eduardo Chvez. Esbozo de la semiosfera del t. Entretextos. Revista Electrnica
Semestral de Estudios Semiticos de la Cultura . N 14-15 (2009/2010). ISSN 1696-7356.
Disponvel em <http://www.ugr.es/~mcaceres/entretextos/pdf/entre14-16/pdf/chavez.pdf>
Acesso em 19 de agosto de 2014.
HISSA, Cssio Eduardo Viana. A mobilidade das fronteiras: inseres da geografia na crise
da modernidade. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002.
HISSA, Cssio Eduardo Viana, CORGOSINHO, Rosana Rios. Recortes de lugar. Geografias,
Belo Horizonte, v. 2, n. 1, p. 7-21, jan.-jun. 2006.
LOTMAN, Iuri e Boris USPENSKI. Sobre o mecanismo Semitico da Cultura. In: Ensaios
de Semitica Sovitica. Lisboa: Livros Horizonte,1981.
65
66
Revista Graphos, vol. 16, n 2, 2014 | UFPB/PPGL | ISSN 1516-1536 1
LOTMAN, Iuri La Semiosfera I. Trad. De Desidrio Navarro. Madri: Ediciones Catedra, 1996.
LOTMAN, Iuri. La Semiosfera II. Trad. De Desidrio Navarro Madrid: Ctedra, 1998.
LOTMAN, Iuri. La Semiosfera III. Trad. De Desidrio Navarro Madrid: Madrid: Ctedra,
2000.
LOTMAN, Iuri. A Estrutura do Texto Artstico. Editorial Estampa: Lisboa: 1978
MACHADO,Irene. Escola de semitica: A experincia de Trtu-Moscou para o estudo da
Cultura. So Paulo:Ateli Editorial, FAPESP,2003.
MACHADO, Irene (org). Semitica da Cultura e Semiosfera. So Paulo: Annablume/Fapesp,
2007.
PCOLO, Sandra Regina. Memria textual em formatos miditicos de diferentes pocas:
reconfigurao do conto O Enfermeiro, de Machado de Assis: da imprensa ao cinema e
histria em quadrinhos. Tese (Doutorado) Escola de Comunicao e Arte. Universidade de
So Paulo: So Paulo, 2010.
PIZZINI, Joel. Caramujo-Flor (Curta metragem), cor. So Paulo: Plo Cinematogrfica,1988.
RIBEIRO, MTF., and MILANI, CRS., orgs. Compreendendo a complexidade socioespacial
contempornea: o territrio como categoria de dilogo interdisciplinar [online]. Salvador:
EDUFBA, 2009. 312 p. ISBN 978-85-232-0560-7. Available from SciELO Books
<http://books.scielo.org>.
ROSA, Guimares. Grande serto: veredas. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.
SANTOS, Milton. Da totalidade ao lugar. So Paulo: Edusp, 2005.
Kull, Kalevi (2002). "Um sinal no est vivo - um texto ". Em sinal de Sistemas Studie 30,1
s, p. 327-336. Thophile Le Guide (2002). Frana. Le Palais des Ths.
66
Você também pode gostar
- Experiências Do Espaço SemióticoDocumento22 páginasExperiências Do Espaço Semióticowellington Neves VieiraAinda não há avaliações
- Texto 6 - Teoria Russa e Semiótica Da Cultura - História e PerspectivasDocumento17 páginasTexto 6 - Teoria Russa e Semiótica Da Cultura - História e PerspectivasROSANA CRISTINA PINHEIRO BRAZAinda não há avaliações
- Filosofia, Literatura e Linguística: InterfacesNo EverandFilosofia, Literatura e Linguística: InterfacesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Fichamento Semiótica Da Cultura e SemiosferaDocumento7 páginasFichamento Semiótica Da Cultura e SemiosferaAline WendpapAinda não há avaliações
- Semiotica de Cultura ResumoDocumento6 páginasSemiotica de Cultura ResumolisAinda não há avaliações
- Sociedade, cultura e identidade em vidas secas, de Graciliano Ramos e os magros, de Euclides NetoNo EverandSociedade, cultura e identidade em vidas secas, de Graciliano Ramos e os magros, de Euclides NetoAinda não há avaliações
- A Estrutura Potencial do Gênero: Uma Introdução às Postulações Sistêmico-Funcionais de Ruqaiya HasanNo EverandA Estrutura Potencial do Gênero: Uma Introdução às Postulações Sistêmico-Funcionais de Ruqaiya HasanAinda não há avaliações
- A Construção Do Humor em "Frases Engraçadas" Veiculadas em Os VigaristasDocumento10 páginasA Construção Do Humor em "Frases Engraçadas" Veiculadas em Os VigaristasTássio BrunoAinda não há avaliações
- Design e Semiótica Da Cultura: A Análise de Estruturas Modelizantes e A Brasilidade em Marcas GráficasDocumento11 páginasDesign e Semiótica Da Cultura: A Análise de Estruturas Modelizantes e A Brasilidade em Marcas GráficasEduardo FerreiraAinda não há avaliações
- Semiótica Da CulturaDocumento13 páginasSemiótica Da Culturakujata1984100% (1)
- Semiotica Da Cultura - Org - MarcelDocumento6 páginasSemiotica Da Cultura - Org - Marcelshaquil jafarAinda não há avaliações
- A literatura como reveladora das vozes sociais do nosso tempoNo EverandA literatura como reveladora das vozes sociais do nosso tempoAinda não há avaliações
- Sentido e Identidade em Palha de ArrozDocumento12 páginasSentido e Identidade em Palha de ArrozPriscila CruzAinda não há avaliações
- A Importância Da Leitura Dialógica Na Sala De AulaNo EverandA Importância Da Leitura Dialógica Na Sala De AulaAinda não há avaliações
- A Construção Artística em Sagarana: Uma Análise Estrutural Semiótica em João Guimarães RosaNo EverandA Construção Artística em Sagarana: Uma Análise Estrutural Semiótica em João Guimarães RosaAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento20 páginas1 PBEmily MoonAinda não há avaliações
- Comunicação e Semiótica Da Cultura Cinema Como Texto Cultural by Gilka VargasDocumento13 páginasComunicação e Semiótica Da Cultura Cinema Como Texto Cultural by Gilka VargasGilka VargasAinda não há avaliações
- Semioses Do Corpo em Transe: Intercom - Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares Da ComunicaçãoDocumento15 páginasSemioses Do Corpo em Transe: Intercom - Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares Da ComunicaçãoodaysamarquesAinda não há avaliações
- Estudos de Linguagem: Léxico e DiscursoNo EverandEstudos de Linguagem: Léxico e DiscursoAinda não há avaliações
- Semiotica Da CulturaDocumento28 páginasSemiotica Da CulturaDelcio AlmeidaAinda não há avaliações
- 7a Semiortica Da Cultura Apontamentos para Uma Metodologia Da Análise Da Comunicação Ok PDFDocumento9 páginas7a Semiortica Da Cultura Apontamentos para Uma Metodologia Da Análise Da Comunicação Ok PDFIan de AndradeAinda não há avaliações
- 11279-Texto Do Artigo-35482-1-10-20170517Documento10 páginas11279-Texto Do Artigo-35482-1-10-20170517Jonas GarciaAinda não há avaliações
- Literatura Brasileira002Documento37 páginasLiteratura Brasileira002allinyraiannyAinda não há avaliações
- Educação, Linguagem e Literatura: – reflexões interdisciplinares: – Volume 2No EverandEducação, Linguagem e Literatura: – reflexões interdisciplinares: – Volume 2Ainda não há avaliações
- Antologia VitorianaDocumento15 páginasAntologia VitorianaromeudarosAinda não há avaliações
- Yuri Lotman e Semiotica Da CulturaDocumento10 páginasYuri Lotman e Semiotica Da CulturaBruno MoreiraAinda não há avaliações
- KIRCHOFF - Yuri Lotman e Semiótica Da Cultura PDFDocumento10 páginasKIRCHOFF - Yuri Lotman e Semiótica Da Cultura PDFFelipe GibsonAinda não há avaliações
- RespostaDocumento27 páginasRespostafaty genaAinda não há avaliações
- Análise Estilística Lêdo Ivo. O Amanhecer Das CriaturasDocumento14 páginasAnálise Estilística Lêdo Ivo. O Amanhecer Das CriaturasLuci CardosoAinda não há avaliações
- Artigo - Lotman e Semiótica Da Cultura - KirchofDocumento11 páginasArtigo - Lotman e Semiótica Da Cultura - KirchofTalita Ferreira de SouzaAinda não há avaliações
- Semiótica Da CulturaDocumento14 páginasSemiótica Da CulturaHerman TacaseyAinda não há avaliações
- Artigo Atas Paroquiais (FINAL)Documento20 páginasArtigo Atas Paroquiais (FINAL)Carlla DiasAinda não há avaliações
- As Diferenças Entre o Estruturalismo e o Gerativismo e o Estudo Das Maiores Características Dos MesmosDocumento3 páginasAs Diferenças Entre o Estruturalismo e o Gerativismo e o Estudo Das Maiores Características Dos MesmosKarolynneMendesAinda não há avaliações
- EstruturalismoDocumento10 páginasEstruturalismoJosué Jacob MouzinhoAinda não há avaliações
- Análise Do Discurso e Mídia: Nas Trilhas Da Identidade NordestinaDocumento11 páginasAnálise Do Discurso e Mídia: Nas Trilhas Da Identidade NordestinaKhristian BayerAinda não há avaliações
- Esther Jean Langdon - A Fixação Da Narrativa - Do Mito para A Poética de Literatura OralDocumento24 páginasEsther Jean Langdon - A Fixação Da Narrativa - Do Mito para A Poética de Literatura OralTalita SeneAinda não há avaliações
- O Sujeito Gramatical e Os Universais LinguisticosDocumento17 páginasO Sujeito Gramatical e Os Universais LinguisticosRaquel MarquesAinda não há avaliações
- Uma Breve Caminhada Pela Tradução LiteráriaDocumento18 páginasUma Breve Caminhada Pela Tradução LiteráriaTonia McDaniel WindAinda não há avaliações
- Uma Introdução À Linguistica Sistemico-Funcional PDFDocumento35 páginasUma Introdução À Linguistica Sistemico-Funcional PDFEstêvão Freixo100% (1)
- Língua e LinguagemDocumento20 páginasLíngua e LinguagemJulia HevelynAinda não há avaliações
- Análise Do Discurso Na França e No Brasil - Aula para A Pós em PassosDocumento55 páginasAnálise Do Discurso Na França e No Brasil - Aula para A Pós em PassosEver FuentesAinda não há avaliações
- Publ Lia Usp 2017Documento21 páginasPubl Lia Usp 2017psfariaAinda não há avaliações
- A análise enunciativo-discursiva a partir das ideias do Círculo de BakhtinNo EverandA análise enunciativo-discursiva a partir das ideias do Círculo de BakhtinAinda não há avaliações
- Linguagens da religião: Desafios, métodos e conceitos centraisNo EverandLinguagens da religião: Desafios, métodos e conceitos centraisAinda não há avaliações
- Língua, Gênero e Diversidade o Que Tem A Semiótica A Ver Com Isso-Texto Do Artigo-595224-1-10-20221215Documento22 páginasLíngua, Gênero e Diversidade o Que Tem A Semiótica A Ver Com Isso-Texto Do Artigo-595224-1-10-20221215lizpfonseca94Ainda não há avaliações
- A Metonímia em London London, Conto de Caio Fernando AbreuDocumento10 páginasA Metonímia em London London, Conto de Caio Fernando AbreuDaniel RamalhoAinda não há avaliações
- Yuri Lotman e Semiótica Da Cultura ArtigoDocumento10 páginasYuri Lotman e Semiótica Da Cultura ArtigomeandmAinda não há avaliações
- Linguagem e Sociedade: Algumas ReflexÕes Sobre DeterminismoDocumento14 páginasLinguagem e Sociedade: Algumas ReflexÕes Sobre DeterminismovelozesefuriosoAinda não há avaliações
- Oralidade e LetramentoDocumento10 páginasOralidade e LetramentoNivea InesAinda não há avaliações
- Galoa Proceedings Compos 2023 167965Documento22 páginasGaloa Proceedings Compos 2023 167965gabrieldasilvasantos301997Ainda não há avaliações
- Antropologia LinguisticaDocumento16 páginasAntropologia LinguisticaKender PerezAinda não há avaliações
- Gêneros (Digitais) em Foco - Por Uma Discussão SóciohistóricaDocumento26 páginasGêneros (Digitais) em Foco - Por Uma Discussão SóciohistóricaNaty SilvaAinda não há avaliações
- Lexicografia Discursiva - Eni OrlandiDocumento18 páginasLexicografia Discursiva - Eni OrlandiRonaldo FreitasAinda não há avaliações
- Resenha 1 - Cultura - Um Conceito Antropológico - Laraia - Regis Augusto DominguesDocumento3 páginasResenha 1 - Cultura - Um Conceito Antropológico - Laraia - Regis Augusto DominguesJonatasorx100% (1)
- O Antropologo Na Figura Do Narrador PDFDocumento19 páginasO Antropologo Na Figura Do Narrador PDFAna Carvalho da RochaAinda não há avaliações
- Abordagens CognitivistasDocumento9 páginasAbordagens CognitivistasJJ DomingosAinda não há avaliações
- Um Corpo para Judith Butler PDFDocumento15 páginasUm Corpo para Judith Butler PDFSilva KamiAinda não há avaliações
- Um Corpo para Judith Butler PDFDocumento15 páginasUm Corpo para Judith Butler PDFSilva KamiAinda não há avaliações
- GengibreDocumento7 páginasGengibregdhissAinda não há avaliações
- Versao Completa Estrategias PobrezaDocumento236 páginasVersao Completa Estrategias PobrezaSilva KamiAinda não há avaliações
- A Cidadania EstranhadaDocumento23 páginasA Cidadania EstranhadaSilva KamiAinda não há avaliações
- Semiótica PeirceanaDocumento12 páginasSemiótica PeirceanaSilva KamiAinda não há avaliações
- 10 EticaeResponsabilidadeSocialDocumento3 páginas10 EticaeResponsabilidadeSocialSilva KamiAinda não há avaliações
- À Moda de FoucaultDocumento34 páginasÀ Moda de FoucaultSilva KamiAinda não há avaliações
- KIERKEGAARD. O Conceito de Ironia Constantemente Referido A S+ CratesDocumento281 páginasKIERKEGAARD. O Conceito de Ironia Constantemente Referido A S+ CratesEsserSilvaAinda não há avaliações
- O Masoquismo Na Teoria de Freud PDFDocumento12 páginasO Masoquismo Na Teoria de Freud PDFLori Dixon100% (1)
- Elogio Da LoucuraDocumento10 páginasElogio Da LoucuraDandara OliveiraAinda não há avaliações
- A Ética de São Tomás de Aquino e A Bíblia PDFDocumento13 páginasA Ética de São Tomás de Aquino e A Bíblia PDFTécio AlvesAinda não há avaliações
- Paraísos Artificiais - Paulo Henriques BrittoDocumento66 páginasParaísos Artificiais - Paulo Henriques BrittoSabrina Tessarini100% (1)
- ApostilaDocumento129 páginasApostilacampannha8611Ainda não há avaliações
- Laços de Amor - VineyardDocumento1 páginaLaços de Amor - VineyardRafael De SouzaAinda não há avaliações
- PbsDocumento9 páginasPbsJuan RoldaoAinda não há avaliações
- Significado Do Tridente de ExúDocumento4 páginasSignificado Do Tridente de ExúTateto Omulu89% (9)
- Oexp11 Teste1 VieiraDocumento5 páginasOexp11 Teste1 VieiraLeonor PintoAinda não há avaliações
- Ativ. Quinhentismo - Carta de Pero VazDocumento2 páginasAtiv. Quinhentismo - Carta de Pero VazANA LUCIA FABRI ONESKOAinda não há avaliações
- Os Níveis de DesobediênciaDocumento27 páginasOs Níveis de DesobediênciaBatista ManancialAinda não há avaliações
- PORTUGUÊSDocumento85 páginasPORTUGUÊSmiluizasAinda não há avaliações
- Descoberta Do TextoDocumento14 páginasDescoberta Do TextoFrancisco RotchellerAinda não há avaliações
- CambonesDocumento3 páginasCambonesViviane TheodoroAinda não há avaliações
- Música - Sua Influência Na Vida Do CristãoDocumento52 páginasMúsica - Sua Influência Na Vida Do CristãoClaudiomiro da Conceição RibeiroAinda não há avaliações
- A Casa Dos PronomesDocumento4 páginasA Casa Dos PronomesRenata Alfaia FernandesAinda não há avaliações
- Projeto Literatura Cei Professora Helga StoltenbergDocumento14 páginasProjeto Literatura Cei Professora Helga StoltenbergJurete da Silva SouzaAinda não há avaliações
- Apostila - Semana 4 - Só PortugaDocumento8 páginasApostila - Semana 4 - Só PortugaElaine RomãoAinda não há avaliações
- Axiomatização para 9º Ano 16-17Documento10 páginasAxiomatização para 9º Ano 16-17Maria Natália MendesAinda não há avaliações
- Cristo Crucificado - Charles Haddon SpurgeonDocumento19 páginasCristo Crucificado - Charles Haddon SpurgeonEduardo Lopes LabordaAinda não há avaliações
- Concordancia Nominal 10.09.2022 Exercicios ComentadosDocumento6 páginasConcordancia Nominal 10.09.2022 Exercicios ComentadosIzadora RafaellaAinda não há avaliações
- 11-Sombras Solidos - ConeDocumento9 páginas11-Sombras Solidos - ConeSara BarrosAinda não há avaliações
- NUQ Expressoes Culturais 2019 Web PDFDocumento277 páginasNUQ Expressoes Culturais 2019 Web PDFAriel CostaAinda não há avaliações
- Arquitetura de Um Sistema de Computação PDFDocumento52 páginasArquitetura de Um Sistema de Computação PDFNilton Kazuo Gomes SuzukiAinda não há avaliações
- Baby BossDocumento2 páginasBaby BossCarlinhos MacielAinda não há avaliações
- Luiz Gonzaga de Carvalho As Religioes Do Mundo I Aula 02 TranscricaoDocumento25 páginasLuiz Gonzaga de Carvalho As Religioes Do Mundo I Aula 02 TranscricaoYcaro SousaAinda não há avaliações
- pOUSO COM O IlsDocumento14 páginaspOUSO COM O IlsGuilhermeVasconcelosAinda não há avaliações
- Legenda Descritiva - Pensando em Acessibilidade para Pessoas Surdas em Processo de Aprendizagem Da Língua PortuguesaDocumento13 páginasLegenda Descritiva - Pensando em Acessibilidade para Pessoas Surdas em Processo de Aprendizagem Da Língua PortuguesaRafael OliveiraAinda não há avaliações
- SemânticaDocumento4 páginasSemânticaBárbara NalbiAinda não há avaliações
- JAM - Lacan y La Voz PDFDocumento13 páginasJAM - Lacan y La Voz PDFmmgilAinda não há avaliações
- Fichamento 02 - Análise Do DiscursoDocumento2 páginasFichamento 02 - Análise Do DiscursovinnicyusrvAinda não há avaliações
- 10 Atitudes para Ser Um Cristão VencedorDocumento12 páginas10 Atitudes para Ser Um Cristão VencedorRoberio OliveiraAinda não há avaliações
- Atividade 5 - Arranjo Permutação e CombinaçãoDocumento1 páginaAtividade 5 - Arranjo Permutação e CombinaçãoGrasielle SantanaAinda não há avaliações
- 14 PT Manual 1682347211Documento29 páginas14 PT Manual 1682347211Crisanto (Cris)Ainda não há avaliações