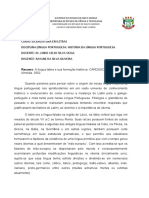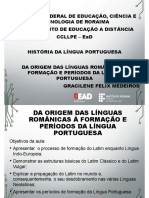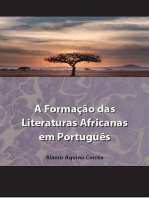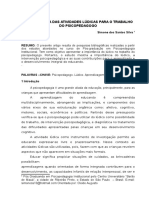Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Importancia de Estudar Latim PDF
A Importancia de Estudar Latim PDF
Enviado por
BrunaM.R.AflaloDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Você também pode gostar
- Apanhado de Relações Étnico Raciais No BrasilDocumento3 páginasApanhado de Relações Étnico Raciais No BrasilMariane Pavani100% (2)
- Avaliação Origem e Formação Da Lingua PortuguesaDocumento8 páginasAvaliação Origem e Formação Da Lingua PortuguesaGraciete BarrosAinda não há avaliações
- RESUMO IV Fatores de LatinizaçãoDocumento2 páginasRESUMO IV Fatores de LatinizaçãoAlex Elias100% (2)
- Resenha - A Vida É Um Sopro - Arquiteto Oscar NiemeyerDocumento3 páginasResenha - A Vida É Um Sopro - Arquiteto Oscar NiemeyerGerraj MeloAinda não há avaliações
- 21 44 1 PBDocumento12 páginas21 44 1 PBRafael CensonAinda não há avaliações
- Grupo 5.Documento8 páginasGrupo 5.silvitoriahAinda não há avaliações
- ARTIGO - Alisson Inacio - Faculdade IguaçuDocumento12 páginasARTIGO - Alisson Inacio - Faculdade IguaçuAlisson InácioAinda não há avaliações
- Melo E020007Documento15 páginasMelo E020007Raphaela Sant'AnaAinda não há avaliações
- Origem e História Da Língua PortuguesaDocumento7 páginasOrigem e História Da Língua PortuguesaJornes Da Gloria LuísAinda não há avaliações
- Latim - Conteito e HistóriaDocumento8 páginasLatim - Conteito e Históriabellinha borbaAinda não há avaliações
- 10885-Texto Do Artigo-52839-1-10-20210131Documento7 páginas10885-Texto Do Artigo-52839-1-10-20210131Judson De Araujo BarbosaAinda não há avaliações
- Texto 01 - História Da Língua PortuguesaDocumento18 páginasTexto 01 - História Da Língua PortuguesaDenilson Lopes100% (3)
- O Portugues Da GenteDocumento34 páginasO Portugues Da Gentekatarine nicoleAinda não há avaliações
- Historiado LatimDocumento3 páginasHistoriado LatimRAYANE DA SILVA OLIVEIRAAinda não há avaliações
- 1 Latim e RomanizaçãoDocumento33 páginas1 Latim e RomanizaçãoSamanthaAinda não há avaliações
- Origem Da Língua Portuguesa..Documento6 páginasOrigem Da Língua Portuguesa..Helder Isac JrAinda não há avaliações
- Resumo Da História Da Literatura PortuguesaDocumento13 páginasResumo Da História Da Literatura PortuguesaBruna Chung100% (1)
- BotelhoDocumento21 páginasBotelhonhamussuaameliabernardoAinda não há avaliações
- Historia Bo Tel HoDocumento40 páginasHistoria Bo Tel HoÉrica de FreitasAinda não há avaliações
- A Lingua PortuguesaDocumento12 páginasA Lingua PortuguesaadrialpintoAinda não há avaliações
- Texto 04 - História Externa Da Língua PortuguesaDocumento12 páginasTexto 04 - História Externa Da Língua PortuguesaDenilson LopesAinda não há avaliações
- Mundo Lusofono 1.Documento13 páginasMundo Lusofono 1.hermenegildoAinda não há avaliações
- Historia Sociopolitica Da Lingua Portuguesa de CarDocumento8 páginasHistoria Sociopolitica Da Lingua Portuguesa de CarLaís BorgesAinda não há avaliações
- O Latim Como Língua Da RomaniaDocumento6 páginasO Latim Como Língua Da RomaniaLucas VictalinoAinda não há avaliações
- História Da Lingua PortuguesaDocumento3 páginasHistória Da Lingua PortuguesaMaria João CartaxoAinda não há avaliações
- Avaliacao 2 LP 6 Comentario Critico As Periodizacoes Da Historia Da Lingua PortugesaDocumento10 páginasAvaliacao 2 LP 6 Comentario Critico As Periodizacoes Da Historia Da Lingua PortugesadanielabribeiroAinda não há avaliações
- Cultura e Funcionamento Da Língua Latina (AULAS 01-02Documento44 páginasCultura e Funcionamento Da Língua Latina (AULAS 01-02Lara BorgesAinda não há avaliações
- Aula 01 Origens Das Línguas RomânicasDocumento19 páginasAula 01 Origens Das Línguas RomânicasRailson GiozaneAinda não há avaliações
- RESUMO Origem Das Linguas RomanicasDocumento2 páginasRESUMO Origem Das Linguas RomanicasAlex EliasAinda não há avaliações
- Origem, Evolução Da Língua PortuguesaDocumento3 páginasOrigem, Evolução Da Língua PortuguesaAndressa Santos DuarteAinda não há avaliações
- RESUMÃODocumento17 páginasRESUMÃORafael KohlzAinda não há avaliações
- O Português Da GenteDocumento34 páginasO Português Da GenteAmine Maria100% (1)
- Evulução Da Lingua PortuguesaDocumento8 páginasEvulução Da Lingua Portuguesabaptista joaquimAinda não há avaliações
- Ifpa - Portugues InstrumentalDocumento89 páginasIfpa - Portugues InstrumentalAnderson Marques Neto0% (1)
- Sobre o Latim e Outros LatinsDocumento10 páginasSobre o Latim e Outros LatinsMargarida Da Conceição EspiguinhaAinda não há avaliações
- Historia e Evolução Da Lingua Portuguesa - TrabalhoDocumento6 páginasHistoria e Evolução Da Lingua Portuguesa - TrabalhoEmerson Moreira de SousaAinda não há avaliações
- A Origem Do Portugues No BrasilDocumento11 páginasA Origem Do Portugues No Brasilapolo tavora100% (1)
- Um Estudo Sobre A Origem Da Língua Portuguesa - Do Latim À Contemporaneidade, Contexto Poético e Social PDFDocumento19 páginasUm Estudo Sobre A Origem Da Língua Portuguesa - Do Latim À Contemporaneidade, Contexto Poético e Social PDFPedro MonteiroAinda não há avaliações
- Empréstimo Linguístico: O Que É, Como E Por Que Se Faz: 1. Fisionomia Do Léxico PortuguêsDocumento24 páginasEmpréstimo Linguístico: O Que É, Como E Por Que Se Faz: 1. Fisionomia Do Léxico PortuguêsMércia ManjateAinda não há avaliações
- Evolucao Da Lingua Portuguesa-By Wata Birro-2018Documento11 páginasEvolucao Da Lingua Portuguesa-By Wata Birro-2018Anonymous EidBA0Ainda não há avaliações
- Trabalho de TELP ISCDocumento13 páginasTrabalho de TELP ISCJornes Da Gloria LuísAinda não há avaliações
- Trabalho de Língua Portuguêsa Querida - para MesclagemDocumento11 páginasTrabalho de Língua Portuguêsa Querida - para MesclagemTércio SilvaAinda não há avaliações
- Português InstrumentalDocumento221 páginasPortuguês InstrumentalAdriano Kenia100% (1)
- A Origem Da Língua PortuguesaDocumento5 páginasA Origem Da Língua PortuguesaEdson de PaulaAinda não há avaliações
- História Da Língua PortuguesaDocumento46 páginasHistória Da Língua PortuguesaMaríaAinda não há avaliações
- Dinho PDFDocumento10 páginasDinho PDFArmando Pedro JonasAinda não há avaliações
- Evolução Da Língua PortuguesaDocumento8 páginasEvolução Da Língua PortuguesaHeydmirson ManghoAinda não há avaliações
- FICHAMENTO - Nova Gramática Do Português ContemporâneoDocumento3 páginasFICHAMENTO - Nova Gramática Do Português ContemporâneoJuan PabloAinda não há avaliações
- As Fases Do PortuguêsDocumento2 páginasAs Fases Do PortuguêsSó Falamos De KuduroAinda não há avaliações
- Lingua Portuguesa IDocumento240 páginasLingua Portuguesa IWilsonXMárciaBorges67% (3)
- Legado Do LatimDocumento2 páginasLegado Do LatimJuliane PereiraAinda não há avaliações
- Santillana Retoma Conteudos GramaticaisDocumento14 páginasSantillana Retoma Conteudos GramaticaisdcoimbraAinda não há avaliações
- Latim e A Língua PortuguesaDocumento11 páginasLatim e A Língua PortuguesaMayte CristineAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Da Lingua Portuguesa Defesa N Quarta...Documento12 páginasDesenvolvimento Da Lingua Portuguesa Defesa N Quarta...Jussy SabinoAinda não há avaliações
- Um Estudo Sobre A Origem Da Língua Portuguesa: Do Latim À Contemporaneidade, Contexto Poético e Social.Documento9 páginasUm Estudo Sobre A Origem Da Língua Portuguesa: Do Latim À Contemporaneidade, Contexto Poético e Social.Ricardo Santos DavidAinda não há avaliações
- 15083416022012filologia Romanica Aula 2 PDFDocumento12 páginas15083416022012filologia Romanica Aula 2 PDFGabriel VellosoAinda não há avaliações
- Resumo DiacroniaDocumento3 páginasResumo DiacroniaKauê FernandesAinda não há avaliações
- Síntese Geral de LPDocumento3 páginasSíntese Geral de LPRenan SantosAinda não há avaliações
- Variação LingüísticaDocumento4 páginasVariação Lingüísticalinenas2008100% (1)
- Os Substantivos na Lenda de Gaia: Um estudo histórico sobre a transformação do Latim para o PortuguêsNo EverandOs Substantivos na Lenda de Gaia: Um estudo histórico sobre a transformação do Latim para o PortuguêsAinda não há avaliações
- Os Preceitos Normativos Da Acentuação Gráfica Da Língua Portuguesa No Séc. XviNo EverandOs Preceitos Normativos Da Acentuação Gráfica Da Língua Portuguesa No Séc. XviAinda não há avaliações
- Agrupamento de Escolas Gândara-Mar / TochaDocumento2 páginasAgrupamento de Escolas Gândara-Mar / TochaMiguel Afonso da Silva Ribeiro ReisAinda não há avaliações
- Resenha-Crítica "Da Monarquia À República" (Emília Viotti) - Capítulo 11: " A Proclamação Da República"Documento4 páginasResenha-Crítica "Da Monarquia À República" (Emília Viotti) - Capítulo 11: " A Proclamação Da República"Danilo BorinAinda não há avaliações
- Orm o Mito Do Dragao Na Escandinavia DaDocumento181 páginasOrm o Mito Do Dragao Na Escandinavia DaHellenah LeãoAinda não há avaliações
- Guernica Analise de ObraDocumento9 páginasGuernica Analise de ObraIago AvelarAinda não há avaliações
- 2010renee AvigdorDocumento201 páginas2010renee AvigdorTaís LoboAinda não há avaliações
- Uma Leitura de A Câmara Clara de Roland Barthes TCCDocumento18 páginasUma Leitura de A Câmara Clara de Roland Barthes TCCAnderson FranciscoAinda não há avaliações
- 4pilares Guia Psicopedagogia ContemporaneaDocumento27 páginas4pilares Guia Psicopedagogia ContemporaneaProjeto Sou CapazAinda não há avaliações
- O Que É o Esoterismo? - Antonio de MacedoDocumento10 páginasO Que É o Esoterismo? - Antonio de MacedoThamos de TebasAinda não há avaliações
- Os Antropólogos e Suas Linhagens PDFDocumento10 páginasOs Antropólogos e Suas Linhagens PDFClever SenaAinda não há avaliações
- Africa Roedura Na AfricaDocumento4 páginasAfrica Roedura Na AfricaMaike Willian Martins100% (1)
- O Uso Da Teoria Das Inteligências Múltiplas No EnsinoDocumento11 páginasO Uso Da Teoria Das Inteligências Múltiplas No EnsinoEDIVANAinda não há avaliações
- Relatório Técnico Parcial PAIC - ThiagoWilliamDocumento6 páginasRelatório Técnico Parcial PAIC - ThiagoWilliamThiago WillianAinda não há avaliações
- CULTURA E SOCIEDADE - Indústria CulturalDocumento3 páginasCULTURA E SOCIEDADE - Indústria CulturalClaudio GomesAinda não há avaliações
- Vol 1 - Oomoto e Suas Atividades Mundiais PDFDocumento28 páginasVol 1 - Oomoto e Suas Atividades Mundiais PDFRodrigo RaposoAinda não há avaliações
- Convenção NacionalDocumento23 páginasConvenção NacionalAna Paula RamosAinda não há avaliações
- A Importância Das Atividades Lúdicas para o Trabalho Do PsicopedagogoDocumento15 páginasA Importância Das Atividades Lúdicas para o Trabalho Do PsicopedagogoEldi Cardoso50% (2)
- História Das Religiões: Alexsandro Alves Da MaiaDocumento18 páginasHistória Das Religiões: Alexsandro Alves Da MaiaThiago RORIS DA SILVAAinda não há avaliações
- Ensinando Literatura Por Comparações UNASPRESSDocumento625 páginasEnsinando Literatura Por Comparações UNASPRESSTiago da Costa Barros MacedoAinda não há avaliações
- Revisão 12 09Documento3 páginasRevisão 12 09Rômulo NascimentoAinda não há avaliações
- UCM Edital 2016 - 0Documento24 páginasUCM Edital 2016 - 0Ganito FranciscoAinda não há avaliações
- Modelo de Trabalho CientíficoDocumento17 páginasModelo de Trabalho CientíficoEder SantanaAinda não há avaliações
- 3574 13089 1 PBDocumento13 páginas3574 13089 1 PBVinicius FerreiraAinda não há avaliações
- Educação 360Documento90 páginasEducação 360Dado AmaralAinda não há avaliações
- PDFDocumento3 páginasPDFwemerson santos0% (1)
- Agenda - Triturando Também o BrasilDocumento44 páginasAgenda - Triturando Também o Brasilclaracosta27Ainda não há avaliações
- PDF Psico Do DesenvolvimentoDocumento142 páginasPDF Psico Do DesenvolvimentoBRUNO CALZAAinda não há avaliações
- Carta Africana Sobre Os Direitos e Bem-Estar Da CrianaDocumento15 páginasCarta Africana Sobre Os Direitos e Bem-Estar Da Crianaapi-17003938Ainda não há avaliações
- História Do Pensamento SociológicoDocumento2 páginasHistória Do Pensamento SociológicoDaiana AreasAinda não há avaliações
A Importancia de Estudar Latim PDF
A Importancia de Estudar Latim PDF
Enviado por
BrunaM.R.AflaloTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Importancia de Estudar Latim PDF
A Importancia de Estudar Latim PDF
Enviado por
BrunaM.R.AflaloDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
A IMPORTNCIA DE ESTUDAR O LATIM
PARA O APRENDIZADO DA SINTAXE
DA LNGUA PORTUGUESA
PELOS DISCENTES DE LETRAS DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ UESC-BA
Francisco Moreira Luna Neto (UESC-BA)
luna_uesc@hotmail.com
INTRODUO
Falar de um idioma estrangeiro, e neste caso o latim,
trilhar por uma histria, falar da cultura de um povo que influenciou no surgimento das novas lnguas, as chamadas neolatinas, tidas hoje como modernas. Estudando-a podemos seguir um caminho que rene conhecimentos tnicos, culturais e
lingusticos, observando como um pas em seu auge imperialista, levando estes aparatos, influenciaram na formao dos
idiomas modernos. Assim, podemos verificar uma interligao
etnolingustica e at mesmo cultural, na formao dos povos
colonizados pelo imprio Romano.
Porm, como este trabalho trata de um estudo lingustico cabe ressaltar que sendo o latim uma lngua mais estruturada linguisticamente com o contato dos outros idiomas dos
colonizados e devido a sua superioridade poltica, interligou-se
linguisticamente aos outros idiomas e assim, as lnguas modernas mantiveram certa estrutura morfossinttico, lxicosemntico e fontico idntica ao latim, surgindo, a partir da,
lnguas como o galego-portugus, o espanhol, provenal, romeno, francs e o italiano.
Em se tratando do nosso idioma, este estudo vem mostrar, especificamente, a importncia do estudo lingusticosinttico do latim, como uma forma de ensino/aprendizagem
para os discentes de letras, da UESC-BA, em aprender a sintaxe da lngua portuguesa.
RIO DE JANEIRO: CIFEFIL, 2008
ENSINO DE LNGUA PORTUGUESA
Partindo desse pressuposto, importante destacar que os
aprendizes, graduandos em letras, tero o conhecimento da influncia etnolingustica latina na formao (das lnguas neolatinas ou modernas), em especial, da lngua portuguesa, acarretando no surgimento de suas estruturas lingustico-sintticas, e
mostrando que possvel o aprendizado da sintaxe do portugus, atravs do estudo lingustico-sinttico do latim, propiciando o seu desenvolver acadmico-cientfico.
Para isso, este trabalho ir mostrar a histria do latim,
seu surgimento e a influncia etnolingustica na formao das
lnguas neolatinas, em especial, do idioma portugus, destacando a influncia das estruturas lingustico-sintticas do idioma latino, na construo sinttica da lngua portuguesa e propondo aos graduandos de letras, novos mtodos que levem
aprendizagem das estruturas em anlise da lngua latina, propiciando a aquisio da sintaxe do portugus.
No desenvolver deste trabalho, adotou-se a obra de Furlan (2006), Coutinho (1954), Cunha (1986), os textos de Fouill (2006), Martins (ano), Pita (ano), Mauri (2005) e o texto da
comisso de Educao, Cultura e Desporto (2001), j que os
mesmos deram o suporte terico para a proposta aqui esboada
e contriburam como procedimentos metodolgicos no processo de comprovao das hipteses, assim como direcionaram
essa pesquisa.
Finalmente espera-se que este trabalho, contribua para
que o estudante de letras possa observar que a lngua latina,
representa uma grande porta para o conhecimento aprofundado
de sua prpria lngua neste caso os aspectos lingusticosintticos do portugus que este trabalho adota fornecendo
um excelente aporte terico para a formao do graduando e
ao mesmo tempo, a defesa da sobrevivncia do ensino do latim
que em ltima instncia, a defesa de aquisio de cultura da
nossa histria.
10
CADERNOS DO CNLF, VOL. XII, N 04
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
Assim, nossos aprendizes devem ser formados com um
conhecimento geral das cincias a que se dedicam aprender.
As lnguas vernaculares do ocidente e em especial, o portugus, no podem prescindir do latim, mas parte de sua histria e formao.
O SURGIMENTO DO LATIM
E A SUA INFLUNCIA ETNOLINGUSTICA
PARA A FORMAO DA LNGUA PORTUGUESA
Para se falar do latim e sua influncia etnolingustica
para a formao da lngua portuguesa, (como, tambm, das
lnguas modernas ou neolatinas) importante frisar de incio,
acontecimentos que narram um historicismo que serve de base
para a compreenso do surgimento do latim.
Neste caso, cabe ressaltar aqui, uma breve reflexo de
Pita:
Estuda-se o latim no para ser camareiro, intrprete, correspondente comercial, mas para conhecer, diretamente, a civilizao e a histria de um povo, pressuposto necessrio da civilizao moderna, ou seja, para sermos ns mesmos e nos conhecermos de maneira consciente. (2002, p. 3)
Partindo desse pressuposto, o latim, proveio de um entroncamento etnolingustico, chamado de Indo-Europeu, que
para Coutinho (1954, p. 42)
Essa expresso refere-se a uma grande famlia tnica, composta por uma mesma raa branca, chamado, tambm, de Ariano,
quanto lingustica, formada por outros dialetos dessa mesma origem como: o grego, o snscrito e as lnguas germnicas.
Desse modo, atravs de um simples falar de um povo de
cultura rstica, que vivia no centro da Pennsula Itlica (o Lcio), a lngua latina veio, com o tempo, a desempenhar um extraordinrio papel na histria da civilizao ocidental. Foram
as vitrias de seus soldados e o esprito de organizao de seus
RIO DE JANEIRO: CIFEFIL, 2008
11
ENSINO DE LNGUA PORTUGUESA
homens de governo que estenderam e consolidaram o enorme
imprio que ia da Lusitnia Mesopotmia e do Norte da frica Gr-Bretanha.
Ao mesmo tempo em que estendiam os seus domnios,
os romanos levavam para as regies conquistadas os seus hbitos de vida, as suas instituies, os padres de sua cultura. Em
contato com outras terras e indivduos de outras civilizaes,
ensinavam, mas, tambm, aprendiam. Aprenderam muito com
os Gregos, principalmente nas trgicas Gregas, os modelos
para as suas experincias de traduo e adaptao literria.
(Cunha, 1986, p. 18)
No que tange ao seu desenrolar lingustico, e devido a
benfica influncia Grega, o latim escrito foi sendo apurado,
na alta perfeio da prosa de Ccero e Csar e da poesia de
Virglio. Em consequncia, com o tempo, acentuou-se a separao entre essa lngua literria, praticada por uma pequena elite e o latim corrente, a lngua usada pelos mais variados grupos sociais da Itlia.
Esta diferena j era sentida pelos Romanos e segundo
Cunha:
Havia uma ntida oposio entre o conservador latim Literrio ou Clssico (sermo litterarius) e o latim vulgar (sermo vulgaris), compreendidas nesta denominao as inmeras variedades
da lngua falada, que vo do colquio polido s linguagens profissionais, e at s grias (sermo quotidianus, urbanus, plebeius,
rusticus, ruralis, pedestris, castrensis etc. (1986, p.13)
Entretanto, a partir dessa variante lingustica que foi o
latim vulgar que soldados, colonos e funcionrios romanos levaram para as regies conquistadas e sob a influncia de mltiplos fatores, diversificou-se com o tempo, nas chamadas Lnguas Romnicas.
Sobre o olhar do mesmo autor destacado acima, cabe
ainda frisar:
12
CADERNOS DO CNLF, VOL. XII, N 04
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
Se dos Gregos os romanos foram discpulos atentos, dos outros povos vencidos souberam ser eles os mestres imitados. No
s da Itlia, mas tambm, na Glia, na Hispnia, na Rcia e na
Dcia, as tribos mais diversas cedo assimilaram os seus costumes e instituies, adotaram como prpria a lngua latina, romanizaram-se. (Idem, p. 13)
Analisando esta afirmao citada, cabe dizer que falado
em tamanha rea geogrfica, por povos de raas to diversas, o
latim vulgar no poderia conservar a sua relativa unidade, cuja
precariedade aconteceu, devido a ser o meio de comunicao a
vastas e variadas comunidades de analfabetos.
Nos centros urbanos mais importantes, o latim literrio
se difundia e at controlava, em certo ponto, os efeitos das foras de diferenciao. Porm, no campo ou em vilas e aldeias, a
lngua passava por variadas transformaes. Assim, no sculo
III da nossa era, podemos dizer que a unidade lingustica do
Imprio no mais existia. (Idem, p. 15)
Neste caso, ao se falar de Imprio, refere-se ao mundo
romnico imposto pelo latim e sua variao lingustica, o vulgar, surgindo a partir dessa, vrios dialetos. Dessa forma, as
variantes lingusticas em ascenso, puderam agir livremente e
de tal forma que para Coutinho:
(...) os falares regionais j estariam mais prximos dos idiomas romnicos do que do prprio latim. Comea ento o perodo
do romance ou romano, denominao que se d lngua vulgar
nessa fase de transio que termina com o aparecimento de textos redigidos em cada uma das lnguas romnicas: francs (sc.
IX); espanhol (sc. X); italiano (sc. X); sardo (sc. XI); provenal (sc XII); portugus (sc XIII) e romeno (sc. XVI). (1954,
p. 62)
Partindo para a romanizao da pennsula Ibrica, muito
pouco se sabe das antigas populaes que habitavam esse territrio. Porm, no inicio da Romanizao, (...) habitavam a pennsula, uma complexa mistura racial: celtas, iberos, pnicofencios, lgures, gregos e outros grupos mal identificados (IRIO DE JANEIRO: CIFEFIL, 2008
13
ENSINO DE LNGUA PORTUGUESA
dem, p. 65). Assim, das lnguas desses povos conservaram os
idiomas hispnicos heranas fonticas e morfolgicas.
importante salientar o que diz ILLARI: A romanizao da Pennsula no se processou uniformemente. Havia a
Tarroconense, correspondente antiga Hispnia Citerior, a Btica e a Lusitnia, desmembradas da Hispnia Ulterior foi a
Btica a que mais cedo assimilou a civilizao romana.
(1992, p. 115)
Ainda neste perodo a Ibria foi invadida por um grupo
heterogneo de povos germnicos, como os vndalos, suevos e
alanos. Destes, os visigodos foram os que mais se fundiram
com a populao Ibrica. Trs fatos concorreram para isso: a
abolio da lei que proibia o casamento de godos com hispanos, ato de Leogevildo e a converso, em 586, de Recaredo ao
Cristianismo. (Illari, 1992, p. 117)
Entretanto, movidos pela Guerra Santa disputa religiosa entre muulmanos e catlicos as tribos rabes conquistaram o norte e, em seguida, invadiram a pennsula Ibrica. Este
domnio cobria toda anterior Espanha visigtica, refletindo
um pouco sobre o que diz Cunha: Com os rabes floresceram na pennsula as cincias e as artes: houve grande incremento da agricultura, indstria e do comrcio; introduziram
inmeras palavras para designar novos e variados conhecimentos. (1986, p. 21)
Neste mesmo perodo de domnio dos Mouros, acentuaram-se as caractersticas distintivas dos romances peninsulares. (...) na regio que compreendia a Galiza e a faixa lusitana
entre o Douro e o Minho, constituiu-se uma unidade lingustica particular que conservaria relativa homogeneidade at meados do sculo XIX galego-portugus. (Idem, p. 23)
Este mesmo momento foi marcado, tambm, pela expulso dos rabes com a tomada de Algarves e sua incluso
em Portugal, no ano de 1263, aps um acordo com Castela.
14
CADERNOS DO CNLF, VOL. XII, N 04
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
Assim, os primrdios do galego-portugus coincidem com a
criao do Reino de Portugal. Tanto um fato quanto outro decorrem das correrias e aes guerreiras promovidas pela Reconquista.
Para Rodolfo Ilari (1992, p. 140)
(...) levou tempo para que se tomasse conscincia do portugus como uma nova lngua e tiveram importncia nesse ofcio
duas instituies, que agiram como centros irradiadores de cultura na Idade Mdia: os mosteiros, onde se levavam a cabo tradues de obras latinas, francesas e espanholas (Mosteiros de Santa
Cruz e Alcobaa) e a Corte, para a qual convergiam os interesses
nacionais. Escreviam ali fidalgos e trovadores, aprimorando a
lngua literria.
Com os descobrimentos martimos dos sculos XV e
XVI, os portugueses ampliaram o imprio de sua lngua, levando-a para os vastos territrios por eles conquistados na frica, na Amrica e na Oceania. a lngua oficial de Portugal,
do Brasil e das antigas colnias portuguesas, hoje naes soberanas: as repblicas de Angola, de Cabo Verde, de GuinBissau, Moambique e de So Tom e Prncipe.
Segundo Coutinho (cf. 1954, p. 51), transportado para
terras to distantes, em que o clima, a topografia, os costumes,
as crenas, as instituies sociais, os hbitos lingusticos eram
os mais diversos, o portugus no pde manter aspecto rigidamente uniforme, mas fracionou-se numa poro de dialetos.
Com relao ao Brasil, a lngua de Portugal e neste caso, o portugus popular, no padro exerceu forte influncia.
Durante anos de colonizao, o pas ganhou uma base lingustica estrutural portuguesa, porm, manteve algumas diferenas
com relao Algarves, devido a grande pluralidade tnica e
lingustica de povos como os indgenas, africanos e at de migrantes europeus, influenciando de certa forma, na estruturao fontica e morfolgica, gerando o chamado portugus brasileiro.
RIO DE JANEIRO: CIFEFIL, 2008
15
ENSINO DE LNGUA PORTUGUESA
Cabe ressaltar, o impacto da independncia em 1822, na
qual, influenciou de certa forma, ao sentido de pertena e de
valorizao da identidade nacional, despertando para uma independncia lingustica, ou seja, para o surgimento de um idioma verdadeiramente nacional, chamando-o de Brasileiro.
A INFLUNCIA DA SINTAXE LATINA
NA CONSTRUO SINTTICA DA LNGUA PORTUGUESA
Quando se trata de uma invaso tnica em um dado territrio, por motivos polticos e econmicos cabvel dizer que
ir exercer certo domnio cultural, a ponto de os colonizados
sofrerem certa aculturao, contraindo supostos costumes e
tradies do pas colonizador.
Nesse sentido, a lngua o principal mecanismo lingustico-cultural que sofre com o impacto de uma dada civilizao
como foi o latim que este estudo aborda, mais estruturado politicamente, que afirmou o seu idioma sobre as outras lnguas e
influenciando-as em novos hbitos fonticos, morfolgicos e
at mesmo, sintticos. Porm, a partir dessa anlise, cabe descrever aqui, em especial, como se deu a influncia lingusticosinttica latina na construo da sintaxe do nosso portugus.
No latim clssico, dividiam-se as palavras, segundo a
terminao, em cinco grandes classes, chamadas declinaes:
1 hora, ae; 2 lupus, i; 3 ovis, is; 4 cantus, us; 5 dies, ei.
Dessas declinaes existiam os chamados casos latinos, que segundo Furlan (2006, p. 65)
Era uma categoria gramatical que, mediante um sistema de
desinncias que se acrescentam ao radical, exprime, com elevado
grau de conciso e preciso, a funo sinttica que um nome
(substantivo, adjetivo e numeral) ou pronome ou um sintagma
nominal exercem na cadeia da frase, pelo que se dizem lnguas
sintticas.
16
CADERNOS DO CNLF, VOL. XII, N 04
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
Dessa forma os casos latinos seriam segundo o autor acima:
O nominativo, (nominatum, denomina os seres); vocativo
(vocatum, chama ou interpela o interlocutor), genitivo (genitum,
gera o radical dos nomes), dativo (datum, refere a pessoa ou coisa qual se d ou destina algo), ablativo (ab-latum, que exprime
os adjuntos adverbiais de origem, procedncia e abstrao) e acusativo (ad causare, acusa o efeito causado pelo verbo agente
do processo) (Idem, p. 67)
Ou seja, eram cinco declinaes compostas pelos casos
latinos, nos quais se dividiam em singular e plural. Ainda, em
cada declinao, existiam os gneros, masculino com maior
nfase na segunda, terceira e quarta declinaes; o feminino
com origem na primeira declinao e tambm, as chamadas
palavras neutras, templum, i pertencente a segunda declinao
e corpo, is pertencente terceira declinao.
Estas cinco declinaes reduziram-se a trs no latim
vulgar. Nesse sentido, j comea a haver certa mudana na estruturao sinttica latina ou seja como era uma variante do latim clssico, falado pela populao cabvel dizer que estas
transformaes se viram, tambm, no desuso de algumas declinaes (...) que os nomes da quinta e da quarta, alis
pouco numerosos, passaram respectivamente aqules primeira, em sua maioria, e terceira declinao; estes, segunda,
pela semelhana que havia entre as suas desinncias causais.
(Coutinho, 1954, p. 232)
A necessidade de clareza, ou seja, a tendncia analtica
da lngua, exigiu o emprego mais frequente da preposio.
Onde bastava o caso para indicar a funo, surgiu a partcula,
facilitando a compreenso de sentido. Desse modo, (...) em
substituio do ablativo simples, emprega-se o ablativo preposicionado: ab sceleribus parce. (Idem, p. 233)
Com o contato do latim vulgar com os dialetos romnicos, os seis casos primitivos reduziram-se a dois, o nominativo
RIO DE JANEIRO: CIFEFIL, 2008
17
ENSINO DE LNGUA PORTUGUESA
que servia de caso sujeito e o acusativo como objeto direto.
Depois dessa reduo, as funes que eram inerentes aos outros casos foram exercidas pelo acusativo com preposio.
Para Coutinho (1954, p. 237)
(...) em certas regies, prevaleceu o nominativo, em outras o
acusativo. O primeiro se manteve no romeno, no italiano, no
provenal, francs antigo, rtico e o segundo se conservou nas
lnguas romnicas, na qual no se verificara a queda do S final,
como no portugus e no espanhol, por exemplo: vitas vida; libros - livros.
Partindo para a pennsula Ibrica e como a nfase aqui
se d lngua portuguesa e sua estruturao sinttica, o que se
pode afirmar, como j foi dito, que o acusativo se difundiu
em Portugal e foi a partir dele que procederam as palavras de
nossa lngua ou seja o caso lexicognico das palavras portuguesas, (...) acusativo singular: mensa-mesa / acusativo plural: mensas-mesas (Idem, p. 237)
A partir dessa observao mister fazer um dilogo
com os pensamentos de Coutinho:
As palavras se dispunham na frase, em latim vulgar, segundo
a ordem natural da elaborao do pensamento, ou seja, sujeito +
verbo + objeto ou predicativo em contraposio ao uso da lngua
clssica, seguida pela Ibria, acabando por fixar a funo das palavras na frase. (Ibidem, p. 237)
Assim, diante dessa evoluo histrico-sinttica da lngua latina, a sua variante, chamada vulgar, levou para os
paises Romnicos a sua estrutura sinttica. Nesse caso, a lngua portuguesa manteve essa mesma estrutura e ao invs de
uma lngua sinttica se transformou em analtica e de uma ordem inversa para direta.
Observa-se, tambm, a distribuio dos casos latinos em
funes sintticas como a transformao do nominativo em sujeito, do vocatum em vocativo, genitivo em complemento nominal, dativo em objeto indireto, ablativo em adjunto adverbi18
CADERNOS DO CNLF, VOL. XII, N 04
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
al e acusativo no objeto direto. Da, pode-se depreender que h
uma herana sinttica do latim vulgar na formao sinttica
do idioma de Portugal e deste levado e copiado para o portugus brasileiro.
NOVOS MTODOS DE ENSINO/APENDIZAGEM
DAS ESTRUTURAS LINGUSTICO-SINTTICAS
DA LNGUA LATINA
PARA A AQUISIO DA SINTAXE DO PORTUGUS
O ensino do latim comeou a ser difundido atravs da
igreja catlica, detentora do poder educacional do sculo XVIII e que preservou a transmisso da cultura clssica, difundidoa para os pases cristos do ocidente. A partir do renascimento,
os humanistas reintroduziram no sistema educacional, os valores clssicos de conhecimento universal e o latim e o grego so
ressituados como lnguas de cultura.
Para Mauri (2005, p. 2)
(...) a universidade fundada nos finais da Idade Mdia reimplanta o sistema educacional clssico grego e o latim assume, ento, ademais do papel de lngua de cultura, o de lngua acadmica e cientfica, permanecendo, assim, at praticamente o sculo
XVIII e incio do XIX.
Ainda parafraseando o autor acima: Nos ltimos dois
sculos, talvez mais acentuadamente a partir da revoluo industrial, por presso do capitalismo, a educao vai mudando
de posio. A cultura geral, stricto sensu, cede espao ao
pragmatismo e utilitarismo. (Ibidem, p. 3)
Partindo dessa observao destacada, o desenvolvimento econmico atrelado ao da tecnologia, determinou o carter
do mercado de trabalho e consequentemente, o da formao de
trabalhadores, em oposio ao ideal de formao clssica que
investia nas chamadas artes liberais como a gramtica, retrica, dialtica e aritmtica.
RIO DE JANEIRO: CIFEFIL, 2008
19
ENSINO DE LNGUA PORTUGUESA
Contraditrio a estas artes, o ensino moderno opta pelas chamadas artes mecnicas, que em princpio, referiam-se
apenas s atividades manuais, mas que hoje incluiriam todas
as cincias relacionadas a elas (Ibidem, p. 4). Neste sentido
importante questionar de que adianta ao homem ganhar dinheiro sem ter cultura? Ou seja, que adianta o valor da tcnica
sem a cultura, do trabalho sem o prazer da vida. Na verdade, o
que caracteriza o ser humano a capacidade de desenvolvimento do intelecto e do esprito.
Assim,
O espao das humanidades dentro da Universidade deve ser
defendido. A dignidade do ser humano deve ser defendida. No
se questionando que a universidade deve adequar o sistema educacional necessidade de mo-de-obra para o desenvolvimento
industrial e social, mas sem perder o lado humano, cultural.
(Mauri, 2005, p. 4)
A partir da anlise do autor, o que se pode depreender
que a defesa da sobrevivncia do ensino de latim em ltima
instncia, a defesa da aquisio de cultura de nossa histria.
Porm, o que se observa hoje certa desvalorizao do ensino
do latim por parte de seus discentes na academia e de certa desatualizao de seus profissionais.
E de onde vem esse desinteresse por parte dos graduandos e essa desatualizao dos docentes? o que este estudo
vem analisar e fomentar novos mtodos para uma possvel ajuda, no que tange ao ensino/aprendizagem das estruturas lingustico-sintticas do latim, para o aprendizado da sintaxe do
portugus, pelos estudantes da instituio em foco.
Quando se trata de desinteresse importante destacar
que essa atitude vem de certo histrico estrutural defasado do
prprio ensino da lngua portuguesa, no qual os graduandos
em letras chegam com uma grande dificuldade em no entender o estudo dos casos latinos, devido pssima aprendizagem
da sintaxe da lngua portuguesa.
20
CADERNOS DO CNLF, VOL. XII, N 04
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
E esta m qualidade do ensino bsico do portugus, advm de algumas leis propostas por alguns colaboracionistas
que no sabem realmente a importncia da cultura lingustica
do latim. Neste sentido, a atual Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) destaca:
(...) que os currculos do ensino fundamental e mdio devem
ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada
sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas caractersticas regionais e locais de sociedade da cultura, da economia, e da clientela. Assim, considera-se que o retorno do latim na escola no prova de que haver
melhorias substanciais no uso do idioma ptrio, por parte dos
brasileiros. (CECD, n 3963, 2000)
Esta nova adoo quebrou totalmente as diretrizes do
MEC para o aperfeioamento do ensino/aprendizagem da lngua portuguesa, que pelo decreto n 91.372, de 26/06/1985, ainda, sob o mandato do presidente da repblica Jos Sarney
que estabelecia:
Que na disciplina de lngua portuguesa, deve haver aulas dedicadas ao estudo das estruturas do latim, com vistas compreenso mais lcida da prpria lngua portuguesa, em sua histria
interna e seus recursos mrficos e semnticos. Na hiptese de se
desdobrar o 2 grau em cientfico e clssico, neste deve ser reintroduzido o latim.
Um outro ponto a ser visto a prpria carga horria do
curso de latim que muito pequena, adotando-se, apenas, duas
aulas por semana e certa inadequao do currculo, oferecendo
o curso de latim em apenas dois semestres. Essa falta de estruturao promove, de certa forma, no problema que foi abordado ainda a pouco, como tambm, obriga aprender o latim em
pouco tempo, multiplicando, assim, as deficincias ortogrficas, morfossintticos e lxico-semntico dos futuros profissionais de letras.
Essa situao diverge de algumas universidades aqui
mesmo na Bahia, onde tem um curso de latim com at quatro
semestres e ainda disciplinas extras como literatura latina
RIO DE JANEIRO: CIFEFIL, 2008
21
ENSINO DE LNGUA PORTUGUESA
sabendo que esta disciplina s oferecida no curso de portugus como o caso da UESB, UNEB e UEFS. J na UFBA,
tem-se o curso de Letras Clssicas com nfase em latim e grego, sendo os dois cursos em cinco anos.
importante salientar, tambm,
O amplo espao reservado ao estudo das letras latinas pelas
universidades, ainda, aqui no Brasil na regio sudeste: UNICAMP, USP, UFRJ, PUC ou at mesmo pases de cultura latina
da Europa, Portugal, Espanha, Frana, Itlia e Romnia e dos
prprios pases anglo-saxnicos, Alemanha, Inglaterra, Estados
Unidos e Canad. (MEC, 1985, p.32)
Esta falta de desinteresse, tambm fruto da prpria
metodologia utilizada pelos professores, adotando o mtodo
gramaticalista, aplicando-a a textos ora completamente dissociados da realidade dos estudantes, ora em nvel de complexidade acima da capacidade de compreenso desse pblico alvo.
O prprio ensino da sintaxe no parte de uma reviso inicial
do sistema sinttico do portugus, para em seguida trabalhar
com as declinaes e os casos latinos.
H, ainda, o prprio divrcio entre a lngua latina e os
demais idiomas ensinados no curso de Letras como Ingls,
Francs e Espanhol, transferindo para os estudantes de Letras
em uma forma, tambm, de desinteresse para assimil-lo da relao lingustica latina com estes idiomas, no sabendo que esta ligao fornece um excelente aporte, para a formao dos
graduandos.
Diante desses vrios problemas histricos estruturais
abordados, cabe neste trabalho propor um novo olhar para o
estudo do latim, possibilitando mtodos que realizem a ligao
das estruturas lingusticas latinas, para o desenvolver sinttico
do portugus brasileiro, assim, como em ampliar o conhecimento lingustico-cultural do graduando.
Para que esta nova proposta de ensino alcance seus objetivos cabvel que haja uma nova reformulao na sua estru22
CADERNOS DO CNLF, VOL. XII, N 04
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
turao curricular, aumentando para mais semestres o estudo
do latim, como, tambm, o aumento da sua carga horria.
Partindo para os mtodos propostos importante destacar que antes de entrar no lado estrutural do ensino do latim,
verifica-se que todo docente da lngua latina, deve mostrar aos
graduandos de letras:
(...) a linguagem como um sistema de signos ou seja, o signo
j era usado pelos gregos e latinos e no adveio de Saussure; a
lngua como um sistema de signos verbais articulados entre si
(sons, formas e frases) integrando o aparelho ideolgico, comunicativo e esttico da sociedade; mostrar a evoluo da mesma
no tempo, diacrnicas (latim arcaico, clssico);no espao, diatpicas( latim itlico, hispnico); no estrato sociocultural, diastrticas (latim popular ou vulgar); mostrar que desde a antiguidade j
existiam estudos sobre a lingustica; o surgimento da gramtica
pelos Alexandrinos e a teoria e a crtica literria nascentes da antiguidade clssica. (Furlan, 2006, p. 27)
O que fica entendido que o estudo do latim no comea isoladamente partindo de sua gramtica para a assimilao
morfolgica e ao mesmo tempo sinttica, mas de uma forma
contextualizada, mostrando aos aprendizes que tanto a linguagem, a lngua e a prpria literatura ocidental tiveram certa influncia do latim e de certa forma do Grego.
Com relao aos textos, o que se vale agora so obras
referentes a um vocabulrio representado pelo cotidiano contemporneo e no de uma Roma imperial, escapando da instrumentalizao para leitura dos clssicos. Desta forma o trabalho com o texto e at mesmo de frases latinas no iro ser
mais vistas como maantes, ajudando para uma melhor compreenso da sintaxe do latim e sua aquisio para a estruturao sinttica do portugus brasileiro.
E com relao ao estudo da sintaxe, deve-se partir de
uma reviso inicial do sistema sinttico do portugus, para em
seguida, trabalhar com as declinaes e os casos latinos, mostrando a estruturao da sintaxe latina nas frases ou em textos
RIO DE JANEIRO: CIFEFIL, 2008
23
ENSINO DE LNGUA PORTUGUESA
e como a mesma, influenciou para o surgimento e aprimoramento da estruturao sinttica do portugus brasileiro. Dessa
forma, ao fazerem as atividades com frases ou analisando textos, os discentes sentiro mais facilidade na compreenso do
latim para o portugus e vice-versa.
CONSIDERAES FINAIS
Ao falar sobre o estudo do latim vivenciar a histria
de um povo que influenciou no surgimento das novas lnguas,
as chamadas neolatinas, tidas hoje como modernas. Assim,
podemos seguir um caminho que rene conhecimentos tnicos, culturais e lingusticos, mostrando como um pas em seu
auge imperialista, levou estes aparatos, e influenciaram na
formao dos idiomas modernos.
A partir do contato com os idiomas dos colonizados e
devido a sua superioridade poltica, interligou-se linguisticamente aos outros idiomas e assim, as lnguas modernas mantiveram certa estrutura morfossinttico, lxico-semntico e
fontico idntica ao latim, surgindo, a partir da, lnguas como o galego-portugus, o espanhol, provenal, romeno, francs e o italiano.
Porm, este trabalho mostrou, especificamente, a importncia do estudo lingustico-sinttico do latim, como uma forma de ensino/aprendizagem para os discentes de letras da UESC, em aprender a sintaxe do portugus brasileiro. Para isso,
utilizaram-se novos mtodos de ensino e propostas que venham a auxiliar, a estrutura curricular do curso de latim, sabendo que estas inovaes podem ajudar contra o desinteresse
dos graduandos de letras para aprender a lngua latina.
Em suma, ensinar o latim propiciar aos graduandos, o
conhecimento da histria, da sociedade, da cultura e da literatura, percebendo o legado que nos deixaram e nos reconhecermos naquilo que somos. Linguisticamente, veramos como
24
CADERNOS DO CNLF, VOL. XII, N 04
Crculo Fluminense de Estudos Filolgicos e Lingusticos
a lngua latina, muitas vezes, serve de suporte para o aprendizado sistematizado, tanto do portugus, a nvel de estruturao
sinttica, como, tambm, o enriquecimento do seu acervo vocabular e o saber etimolgico das palavras portuguesas.
Dessa forma, estes conhecimentos iro propiciar o seu
desenvolver acadmico/cientfico e um novo despertar, at
mesmo, para a prxis pedaggica do ensino de portugus, fomentando aos seus discentes que a lngua portuguesa, suas palavras e a sua estruturao sinttica, no veio do nada, mas
sim, de uma lngua que a influenciou e foi o latim.
REFERNCIAS
CUNHA, Celso Ferreira da. Gramtica da lngua portuguesa.
11 ed. Rio de Janeiro: FAE, 1986.
MARTINS, Carla. Estudar latim, Para qu? Rio de Janeiro:
Escola Secundria Francisco de Holanda, 2000.
Comisso de Educao, Cultura e Desporto. LDB / n
9.394/96. Parecer. Braslia, Dezembro de 1996.
Fouill. Cada lio de latim uma lio de lgica. So Paulo:
Academia das Letras, 2006.
COUTINHO, Ismael de Lima. Pontos de gramtica histrica.
3 ed. Rio de Janeiro: Acadmica, 1954.
PITA, Luiz Fernando Dias. Latim e esperanto, via Internet.
Rio de Janeiro: Unigranrio/UCB, 2002.
FURLAN, Mauri. Quem traduzir a literatura latina no Brasil. Santa Catarina: II Simpsio do grupo de Pesquisa Literatura Traduzida, 2005.
FURLAN, Oswaldo Antonio. Lngua e literatura Latina e sua
Derivao Portuguesa Petrpolis: Vozes, 2006.
LLARI, Rodolfo. Lingustica romnica. So Paulo: tica, 1992.
RIO DE JANEIRO: CIFEFIL, 2008
25
Você também pode gostar
- Apanhado de Relações Étnico Raciais No BrasilDocumento3 páginasApanhado de Relações Étnico Raciais No BrasilMariane Pavani100% (2)
- Avaliação Origem e Formação Da Lingua PortuguesaDocumento8 páginasAvaliação Origem e Formação Da Lingua PortuguesaGraciete BarrosAinda não há avaliações
- RESUMO IV Fatores de LatinizaçãoDocumento2 páginasRESUMO IV Fatores de LatinizaçãoAlex Elias100% (2)
- Resenha - A Vida É Um Sopro - Arquiteto Oscar NiemeyerDocumento3 páginasResenha - A Vida É Um Sopro - Arquiteto Oscar NiemeyerGerraj MeloAinda não há avaliações
- 21 44 1 PBDocumento12 páginas21 44 1 PBRafael CensonAinda não há avaliações
- Grupo 5.Documento8 páginasGrupo 5.silvitoriahAinda não há avaliações
- ARTIGO - Alisson Inacio - Faculdade IguaçuDocumento12 páginasARTIGO - Alisson Inacio - Faculdade IguaçuAlisson InácioAinda não há avaliações
- Melo E020007Documento15 páginasMelo E020007Raphaela Sant'AnaAinda não há avaliações
- Origem e História Da Língua PortuguesaDocumento7 páginasOrigem e História Da Língua PortuguesaJornes Da Gloria LuísAinda não há avaliações
- Latim - Conteito e HistóriaDocumento8 páginasLatim - Conteito e Históriabellinha borbaAinda não há avaliações
- 10885-Texto Do Artigo-52839-1-10-20210131Documento7 páginas10885-Texto Do Artigo-52839-1-10-20210131Judson De Araujo BarbosaAinda não há avaliações
- Texto 01 - História Da Língua PortuguesaDocumento18 páginasTexto 01 - História Da Língua PortuguesaDenilson Lopes100% (3)
- O Portugues Da GenteDocumento34 páginasO Portugues Da Gentekatarine nicoleAinda não há avaliações
- Historiado LatimDocumento3 páginasHistoriado LatimRAYANE DA SILVA OLIVEIRAAinda não há avaliações
- 1 Latim e RomanizaçãoDocumento33 páginas1 Latim e RomanizaçãoSamanthaAinda não há avaliações
- Origem Da Língua Portuguesa..Documento6 páginasOrigem Da Língua Portuguesa..Helder Isac JrAinda não há avaliações
- Resumo Da História Da Literatura PortuguesaDocumento13 páginasResumo Da História Da Literatura PortuguesaBruna Chung100% (1)
- BotelhoDocumento21 páginasBotelhonhamussuaameliabernardoAinda não há avaliações
- Historia Bo Tel HoDocumento40 páginasHistoria Bo Tel HoÉrica de FreitasAinda não há avaliações
- A Lingua PortuguesaDocumento12 páginasA Lingua PortuguesaadrialpintoAinda não há avaliações
- Texto 04 - História Externa Da Língua PortuguesaDocumento12 páginasTexto 04 - História Externa Da Língua PortuguesaDenilson LopesAinda não há avaliações
- Mundo Lusofono 1.Documento13 páginasMundo Lusofono 1.hermenegildoAinda não há avaliações
- Historia Sociopolitica Da Lingua Portuguesa de CarDocumento8 páginasHistoria Sociopolitica Da Lingua Portuguesa de CarLaís BorgesAinda não há avaliações
- O Latim Como Língua Da RomaniaDocumento6 páginasO Latim Como Língua Da RomaniaLucas VictalinoAinda não há avaliações
- História Da Lingua PortuguesaDocumento3 páginasHistória Da Lingua PortuguesaMaria João CartaxoAinda não há avaliações
- Avaliacao 2 LP 6 Comentario Critico As Periodizacoes Da Historia Da Lingua PortugesaDocumento10 páginasAvaliacao 2 LP 6 Comentario Critico As Periodizacoes Da Historia Da Lingua PortugesadanielabribeiroAinda não há avaliações
- Cultura e Funcionamento Da Língua Latina (AULAS 01-02Documento44 páginasCultura e Funcionamento Da Língua Latina (AULAS 01-02Lara BorgesAinda não há avaliações
- Aula 01 Origens Das Línguas RomânicasDocumento19 páginasAula 01 Origens Das Línguas RomânicasRailson GiozaneAinda não há avaliações
- RESUMO Origem Das Linguas RomanicasDocumento2 páginasRESUMO Origem Das Linguas RomanicasAlex EliasAinda não há avaliações
- Origem, Evolução Da Língua PortuguesaDocumento3 páginasOrigem, Evolução Da Língua PortuguesaAndressa Santos DuarteAinda não há avaliações
- RESUMÃODocumento17 páginasRESUMÃORafael KohlzAinda não há avaliações
- O Português Da GenteDocumento34 páginasO Português Da GenteAmine Maria100% (1)
- Evulução Da Lingua PortuguesaDocumento8 páginasEvulução Da Lingua Portuguesabaptista joaquimAinda não há avaliações
- Ifpa - Portugues InstrumentalDocumento89 páginasIfpa - Portugues InstrumentalAnderson Marques Neto0% (1)
- Sobre o Latim e Outros LatinsDocumento10 páginasSobre o Latim e Outros LatinsMargarida Da Conceição EspiguinhaAinda não há avaliações
- Historia e Evolução Da Lingua Portuguesa - TrabalhoDocumento6 páginasHistoria e Evolução Da Lingua Portuguesa - TrabalhoEmerson Moreira de SousaAinda não há avaliações
- A Origem Do Portugues No BrasilDocumento11 páginasA Origem Do Portugues No Brasilapolo tavora100% (1)
- Um Estudo Sobre A Origem Da Língua Portuguesa - Do Latim À Contemporaneidade, Contexto Poético e Social PDFDocumento19 páginasUm Estudo Sobre A Origem Da Língua Portuguesa - Do Latim À Contemporaneidade, Contexto Poético e Social PDFPedro MonteiroAinda não há avaliações
- Empréstimo Linguístico: O Que É, Como E Por Que Se Faz: 1. Fisionomia Do Léxico PortuguêsDocumento24 páginasEmpréstimo Linguístico: O Que É, Como E Por Que Se Faz: 1. Fisionomia Do Léxico PortuguêsMércia ManjateAinda não há avaliações
- Evolucao Da Lingua Portuguesa-By Wata Birro-2018Documento11 páginasEvolucao Da Lingua Portuguesa-By Wata Birro-2018Anonymous EidBA0Ainda não há avaliações
- Trabalho de TELP ISCDocumento13 páginasTrabalho de TELP ISCJornes Da Gloria LuísAinda não há avaliações
- Trabalho de Língua Portuguêsa Querida - para MesclagemDocumento11 páginasTrabalho de Língua Portuguêsa Querida - para MesclagemTércio SilvaAinda não há avaliações
- Português InstrumentalDocumento221 páginasPortuguês InstrumentalAdriano Kenia100% (1)
- A Origem Da Língua PortuguesaDocumento5 páginasA Origem Da Língua PortuguesaEdson de PaulaAinda não há avaliações
- História Da Língua PortuguesaDocumento46 páginasHistória Da Língua PortuguesaMaríaAinda não há avaliações
- Dinho PDFDocumento10 páginasDinho PDFArmando Pedro JonasAinda não há avaliações
- Evolução Da Língua PortuguesaDocumento8 páginasEvolução Da Língua PortuguesaHeydmirson ManghoAinda não há avaliações
- FICHAMENTO - Nova Gramática Do Português ContemporâneoDocumento3 páginasFICHAMENTO - Nova Gramática Do Português ContemporâneoJuan PabloAinda não há avaliações
- As Fases Do PortuguêsDocumento2 páginasAs Fases Do PortuguêsSó Falamos De KuduroAinda não há avaliações
- Lingua Portuguesa IDocumento240 páginasLingua Portuguesa IWilsonXMárciaBorges67% (3)
- Legado Do LatimDocumento2 páginasLegado Do LatimJuliane PereiraAinda não há avaliações
- Santillana Retoma Conteudos GramaticaisDocumento14 páginasSantillana Retoma Conteudos GramaticaisdcoimbraAinda não há avaliações
- Latim e A Língua PortuguesaDocumento11 páginasLatim e A Língua PortuguesaMayte CristineAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Da Lingua Portuguesa Defesa N Quarta...Documento12 páginasDesenvolvimento Da Lingua Portuguesa Defesa N Quarta...Jussy SabinoAinda não há avaliações
- Um Estudo Sobre A Origem Da Língua Portuguesa: Do Latim À Contemporaneidade, Contexto Poético e Social.Documento9 páginasUm Estudo Sobre A Origem Da Língua Portuguesa: Do Latim À Contemporaneidade, Contexto Poético e Social.Ricardo Santos DavidAinda não há avaliações
- 15083416022012filologia Romanica Aula 2 PDFDocumento12 páginas15083416022012filologia Romanica Aula 2 PDFGabriel VellosoAinda não há avaliações
- Resumo DiacroniaDocumento3 páginasResumo DiacroniaKauê FernandesAinda não há avaliações
- Síntese Geral de LPDocumento3 páginasSíntese Geral de LPRenan SantosAinda não há avaliações
- Variação LingüísticaDocumento4 páginasVariação Lingüísticalinenas2008100% (1)
- Os Substantivos na Lenda de Gaia: Um estudo histórico sobre a transformação do Latim para o PortuguêsNo EverandOs Substantivos na Lenda de Gaia: Um estudo histórico sobre a transformação do Latim para o PortuguêsAinda não há avaliações
- Os Preceitos Normativos Da Acentuação Gráfica Da Língua Portuguesa No Séc. XviNo EverandOs Preceitos Normativos Da Acentuação Gráfica Da Língua Portuguesa No Séc. XviAinda não há avaliações
- Agrupamento de Escolas Gândara-Mar / TochaDocumento2 páginasAgrupamento de Escolas Gândara-Mar / TochaMiguel Afonso da Silva Ribeiro ReisAinda não há avaliações
- Resenha-Crítica "Da Monarquia À República" (Emília Viotti) - Capítulo 11: " A Proclamação Da República"Documento4 páginasResenha-Crítica "Da Monarquia À República" (Emília Viotti) - Capítulo 11: " A Proclamação Da República"Danilo BorinAinda não há avaliações
- Orm o Mito Do Dragao Na Escandinavia DaDocumento181 páginasOrm o Mito Do Dragao Na Escandinavia DaHellenah LeãoAinda não há avaliações
- Guernica Analise de ObraDocumento9 páginasGuernica Analise de ObraIago AvelarAinda não há avaliações
- 2010renee AvigdorDocumento201 páginas2010renee AvigdorTaís LoboAinda não há avaliações
- Uma Leitura de A Câmara Clara de Roland Barthes TCCDocumento18 páginasUma Leitura de A Câmara Clara de Roland Barthes TCCAnderson FranciscoAinda não há avaliações
- 4pilares Guia Psicopedagogia ContemporaneaDocumento27 páginas4pilares Guia Psicopedagogia ContemporaneaProjeto Sou CapazAinda não há avaliações
- O Que É o Esoterismo? - Antonio de MacedoDocumento10 páginasO Que É o Esoterismo? - Antonio de MacedoThamos de TebasAinda não há avaliações
- Os Antropólogos e Suas Linhagens PDFDocumento10 páginasOs Antropólogos e Suas Linhagens PDFClever SenaAinda não há avaliações
- Africa Roedura Na AfricaDocumento4 páginasAfrica Roedura Na AfricaMaike Willian Martins100% (1)
- O Uso Da Teoria Das Inteligências Múltiplas No EnsinoDocumento11 páginasO Uso Da Teoria Das Inteligências Múltiplas No EnsinoEDIVANAinda não há avaliações
- Relatório Técnico Parcial PAIC - ThiagoWilliamDocumento6 páginasRelatório Técnico Parcial PAIC - ThiagoWilliamThiago WillianAinda não há avaliações
- CULTURA E SOCIEDADE - Indústria CulturalDocumento3 páginasCULTURA E SOCIEDADE - Indústria CulturalClaudio GomesAinda não há avaliações
- Vol 1 - Oomoto e Suas Atividades Mundiais PDFDocumento28 páginasVol 1 - Oomoto e Suas Atividades Mundiais PDFRodrigo RaposoAinda não há avaliações
- Convenção NacionalDocumento23 páginasConvenção NacionalAna Paula RamosAinda não há avaliações
- A Importância Das Atividades Lúdicas para o Trabalho Do PsicopedagogoDocumento15 páginasA Importância Das Atividades Lúdicas para o Trabalho Do PsicopedagogoEldi Cardoso50% (2)
- História Das Religiões: Alexsandro Alves Da MaiaDocumento18 páginasHistória Das Religiões: Alexsandro Alves Da MaiaThiago RORIS DA SILVAAinda não há avaliações
- Ensinando Literatura Por Comparações UNASPRESSDocumento625 páginasEnsinando Literatura Por Comparações UNASPRESSTiago da Costa Barros MacedoAinda não há avaliações
- Revisão 12 09Documento3 páginasRevisão 12 09Rômulo NascimentoAinda não há avaliações
- UCM Edital 2016 - 0Documento24 páginasUCM Edital 2016 - 0Ganito FranciscoAinda não há avaliações
- Modelo de Trabalho CientíficoDocumento17 páginasModelo de Trabalho CientíficoEder SantanaAinda não há avaliações
- 3574 13089 1 PBDocumento13 páginas3574 13089 1 PBVinicius FerreiraAinda não há avaliações
- Educação 360Documento90 páginasEducação 360Dado AmaralAinda não há avaliações
- PDFDocumento3 páginasPDFwemerson santos0% (1)
- Agenda - Triturando Também o BrasilDocumento44 páginasAgenda - Triturando Também o Brasilclaracosta27Ainda não há avaliações
- PDF Psico Do DesenvolvimentoDocumento142 páginasPDF Psico Do DesenvolvimentoBRUNO CALZAAinda não há avaliações
- Carta Africana Sobre Os Direitos e Bem-Estar Da CrianaDocumento15 páginasCarta Africana Sobre Os Direitos e Bem-Estar Da Crianaapi-17003938Ainda não há avaliações
- História Do Pensamento SociológicoDocumento2 páginasHistória Do Pensamento SociológicoDaiana AreasAinda não há avaliações