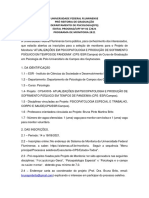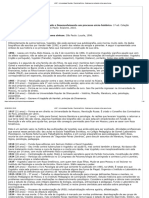Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Para Alem Da Eficacia Simbolica PDF
Para Alem Da Eficacia Simbolica PDF
Enviado por
Gleydson FernandesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Para Alem Da Eficacia Simbolica PDF
Para Alem Da Eficacia Simbolica PDF
Enviado por
Gleydson FernandesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Francesca Bassi
Ftima Tavares
Salvador), bem como os diversos padres No momento o leitor tem em suas mos
interpretativos da terapia e da cura, da Para alm da eficcia simblica, organizado
msica e do transe, e das experincias pelas acadmicas Ftima Tavares e Francesca
religiosas observadas em diferentes agncias Bassi, que tem tudo para se consolidar
teraputico-religiosas, tomadas como como uma leitura obrigatria para os
simbolicamente eficazes ou culturalmente Este livro nasceu entre inquietaes e conversas que interessados, antroplogos ou no, nos
sensveis. provavelmente so partilhadas pelos pesquisadores estudos conceituais sobre o ritual, a religio
especializados em temas tradicionais da antropologia, e a sade. Com forte fundamentao
J na parte final, Teraputicas em contexto,
como rituais, religies e prticas curativas, no qual o conceito etnolgica, esta obra apresenta uma
o volume passa a explorar algumas
de eficcia simblica comparece na grande maioria dos contribuio propositiva relevante sobre as
questes transversais ao tema, como a
eficcia simblica
trabalhos como uma espcie de denominador comum diversas articulaes que tais conceitos, to
teoria das emoes, a interpretao do
para compreenso das transformaes relatadas nesses densos e complexos, implicam para a teoria
envelhecimento, o significado da sade
contextos. possvel descrever atravs de categorias antropolgica, incorporando ao debate,
mental e da morte, vistos em diversos
adequadas as experincias rituais, religiosas e/ou teraputicas
eficcia simblica
contextos etnogrficos, como o de um grupo
que mobilizam agenciamentos eficazes, ou seja, que
estudos em ritual, religio e sade ademais, uma forte inscrio etnogrfica.
de gestantes, de pessoas na terceira idade ou Vale-se, portanto, de contribuies vrias,
no envolvem representaes sobre coisas (eficcias
mesmo de pacientes com sorodiscordncia de requintados pesquisadores nacionais
simblicas), mas transformaes corporais importantes?
para HIV/AIDS. (Ftima Tavares, Snia Weidner Maluf,
Em consonncia com estes questionamentos e em busca de
Octavio Bonet, Carlos Caroso, Marcelo
Trata-se, portanto, de uma obra incomum e possveis caminhos para os problemas que so colocados,
Camura, Claudia Barcellos Rezende,
destacvel, e que, seguramente, vai alicerar esta coletnea tem como proposta disponibilizar para
Rachel Aisengart Menezes) e internacionais
algumas bases importantes dos estudos discusso, segundo abordagens terico-metodolgicas e
(Francesca Bassi, Michael Houseman,
antropolgicos sobre o simbolismo e a dados empricos variados, diversos paradigmas da eficcia
Franois Laplantine, Arnaud Halloy,
religio, e suas relaes com as prticas em mbito ritual, religioso e teraputico que contribuam
Bertrand Hell, Carlo Castaldi, Xavier Vatin,
teraputicas em mltiplas e diferentes para a problematizao de totalidades ou dualismos
Annette Leibing, Mnica Franch e Artur
perspectivas culturais. convencionalizados como representao e ao,
smbolos e prticas, indivduo e contexto. Ftima Tavares Perrusi), que conformam alentado volume,
Cludio Pereira Francesca Bassi sistematicamente dividido em trs partes.
Antroplogo/UFBA Em Revisitando conceitos, so tecidas
consideraes sobre o sofisticado conceito
de eficcia simblica, ou seja, a relao
mais profunda que existe entre smbolos
e crenas. Aqui, exposto um conjunto de
dilemas tericos e desafios etnogrficos,
na medida em que, tambm, se prope
um modelo antropolgico para a prtica
teraputica.
Na parte seguinte, Ritual e transformao
eficaz, so observados os diferentes
dispositivos do transe religioso (aqui
observados em face de alguns cultos como
o Xang do Recife, o Tromba em Mayotte,
os Eguns em Itaparica, o Candombl em
para_alem_da_eficacia_simbolica_CAPA.indd 1 25/07/2013 08:42:29
eficcia simblica
estudos em ritual, religio e sade
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 1 25/07/2013 09:08:43
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Reitora
Dora Leal Rosa
Vice-reitor
Lus Rogrio Bastos Leal
EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
Diretora
Flvia Goulart Mota Garcia Rosa
CONSELHO EDITORIAL
Alberto Brum Novaes
Angelo Szaniecki Perret Serpa
Caiuby Alves da Costa
Charbel Nin El-Hani
Cleise Furtado Mendes
Dante Eustachio Lucchesi Ramacciotti
Evelina de Carvalho S Hoisel
Jos Teixeira Cavalcante Filho
Maria Vidal de Negreiros Camargo
APOIO:
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 2 25/07/2013 09:08:43
eficcia simblica
estudos em ritual, religio e sade
FTIMA TAVARES E FRANCESCA BASSI
ORGANIZADORAS
SALVADOR
EDUFBA
2013
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 3 25/07/2013 09:08:43
2013, autores
Direitos para esta edio cedidos EDUFBA. Feito o depsito legal.
Grafia atualizada conforme o Acordo Ortogrfico da Lngua
Portuguesa de 1990, em vigor no Brasil desde 2009.
Normalizao
Luise Liane de Santana Santos
Reviso
Eduardo Ross
Projeto grfico, capa e editorao
Gabriel Cayres
Sistema de Bibliotecas - UFBA
Para alm da eficcia simblica: estudos em ritual, religio e sade / Ftima Tavares,
Francesca Bassi, organizadoras. - Salvador : EDUFBA, 2012.
376 p.
ISBN - 978-85-232-1047-2
1. Ritos e cerimnias. 2. Cura - Aspectos religiosos. 3. Corpo humano - Aspectos
simblicos. 4. Psicoterapia - Aspectos religiosos. 5. Antropologia mdica. l. Tavares,
Ftima. II. Bassi, Francesca.
CDD - 306.4
editora filiada a
EDUFBA
Rua Baro de Jeremoabo, s/n
Campus de Ondina
40.170-115 - Salvador - Bahia - Brasil
Telefax: 0055 (71) 3283-6160/6164
edufba@ufba.br
www.edufba.ufba.br
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 4 25/07/2013 09:08:43
No homem tudo natural e tudo fabricado.
Maurice Merleau-Ponty
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 5 25/07/2013 09:08:43
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 6 25/07/2013 09:08:43
Sumrio
9 Apresentao
PARTE 1
Revisitando conceitos
17 efeitos, simbolos e crenas
Consideraes para um comeo de conversa
Ftima Tavares e Francesca Bassi
29 Eficcia simblica
Dilemas tericos e desafios etnogrficos
Snia Weidner Maluf
61 Para um modelo antropolgico da prtica psicoteraputica
Michael Houseman
91 O MODELO COREOGRFICO
Franois Laplantine
101 Do que estamos falando?
Eficcia simblica, metforas e o espao entre
Octavio Bonet
PARTE 2
Ritual e transformao eficaz
121 Incorporar os deuses
Dispositivos pragmticos do transe de possesso religiosa no cultoXang
de Recife (primeiras pistas)
Arnaud Halloy
147 Negociar com os espritos tromba em Mayotte
Retorno ao teatro vivido da possesso
Bertrand Hell
175 RENASCIDO PARA A SANTIDADE
Corporalidade, doenas, curas e milagres em Itaparica
Carlos Caroso e Carlo Castaldi
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 7 25/07/2013 09:08:43
203 As ojerizas do povo-de-santo
A eficcia das quizilas
Francesca Bassi
227 A crise da eficcia simblica enquanto padro
interpretativo da terapia e cura no espiritismo
kardecista brasileiro
Indeterminao e banalizao
Marcelo Ayres Camura
247 Msica e possesso
Para alm da eficcia simblica?
Xavier Vatin
261 Experincia religiosa e agenciamentos eficazes
Ftima Tavares
PARTE 3
Teraputicas em contexto
285 Emoo e moralidade em grupos de gestante
Claudia Barcellos Rezende
303 Invertendo a adeso, desdobrando o envolvimento
Envelhecimento, sade mentale o cuidado oferecido ao paciente confiante
Annette Leibing
325 Morte e produo de sentidos
Rachel Aisengart Menezes
345 SANGUE DO MEU SANGUE
Contrastando as prticas do servio de sade e as lgicas conjugais
em situaes de sorodiscordncia para HIV/aids
Mnica Franch e Artur Perrusi
375 sobre os autores
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 8 25/07/2013 09:08:43
Apresentao
Este livro nasceu entre inquietaes e conversas que provavelmente so parti-
lhadas pelos pesquisadores especializados em temas tradicionais da antro-
pologia, como rituais, religies e prticas curativas. A despeito das inmeras
abordagens antropolgicas adotadas nas pesquisas atuais, o conceito de efic-
cia simblica comparece na grande maioria dos trabalhos como uma espcie
de denominador comum para compreenso das transformaes relatadas
nesses contextos. Pode-se mesmo sugerir que esse conceito ultrapassou as
fronteiras do discurso savant, popularizando-se no mbito do senso comum,
transformando-o em panaceia explicativa algo semelhante ao que Geertz re-
gistra ter ocorrido com o conceito de cultura.
Para alm da antiguidade e relevncia do debate em torno da eficcia simb-
lica, mais recentemente a descrio etnogrfica vem enfrentando uma proble-
matizao de modelos explicativos grandiosos e ancorados em essncias, ten-
do que se haver com uma surpreendente pluralidade de discursos e experincias
mobilizados pelos diferentes agentes. Desafiam-se, assim, as pretenses de se
encontrar sentidos preestabelecidos ou totalizadores que expressariam o espri-
to de contextos rituais de ao.
Do ponto de vista fenomenolgico e cognitivo, novas abordagens so mo-
bilizadas na compreenso da eficcia de rituais religiosos direcionados cura,
notadamente o paradigma da corporeidade de Thomas Csordas. J a perspec-
tiva pragmtica tem interesse crescente pelas transformaes operadas em
contextos performativos, mostrando como o regime de signos no comparece
como uma consequncia das relaes, mas intervm nestas. Explorando ou-
tro filo da pragmtica, a nfase na abordagem ator-rede, de Bruno Latour,
vem ganhando importncia. Abordagens de revigoramento da perspectiva
simblica, inspiradas no trabalho seminal de Roy Wagner, tambm compem
um importante espao no debate atual. Enfim, ficando apenas nesses poucos
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 9 25/07/2013 09:08:43
apresentao
exemplos v-se que a pluralidade de abordagens tem evidenciado a densidade
do problema.
A pergunta que nos inspirou na tarefa de reunir trabalhos com diferentes
perspectivas pode ser expressa da seguinte forma: como possvel descrever
atravs de categorias adequadas as experincias rituais, religiosas e/ou tera-
puticas que mobilizam agenciamentos eficazes, ou seja, que no envolvem
representaes sobre coisas, mas transformaes corporais importantes? Nes-
sa perspectiva, pode-se sugerir que a eficcia do domnio religioso (rituais e
formas do cuidar) seria tributriade um conjunto de agenciamentos capazes
de fazer experimentar, em contextos especiais de ao, um simbolismo ad hoc
que, longe da ideia de um cdigo, permitiria a objetivao, isto , a autorrevela-
o, e, portanto, uma naturalizao dos agenciamentos a implicados.
Em consonncia com estes questionamentos e em busca de possveis
caminhos para os problemas que so colocados, esta coletnea tem como
proposta disponibilizar para discusso, segundo abordagens terico-meto-
dolgicas e dados empricos variados, diversos paradigmas da eficcia em
mbito ritual, religioso e teraputico que contribuam para a problematizao
de totalidades ou dualismos convencionalizados como representao e ao,
smbolos e prticas, indivduo e contexto.
O livro encontra-se dividido em trs partes. A primeira parte, intitulada
Revisitando conceitos, rene trabalhos voltados apresentao de diferentes
abordagens terico-metodolgicas. Inicia-se com um captulo das organiza-
doras, em que so apresentadas algumas questes consideradas relevantes
para situar o debate contemporneo sobre o conceito de eficcia simblica.
No captulo seguinte, o objetivo do artigo de Snia Weidner Maluf repensar
a noo de eficcia simblica, considerando os dispositivos que operam nas
situaes de cura ritual, assim como os percursos da noo de eficcia (mgi-
ca, ritual e simblica) no campo da antropologia. A autora sublinha a urgncia
de se buscar nos elementos residuais ou perifricos da noo os avanos para
uma discusso contempornea sobre o conceito de transformao operado
por agenciamentos individuais e coletivos.
Em seguida temos o trabalho de Michael Houseman que, se inscrevendo
contra aproximaes sugestivas, mas frequentemente muito imprecisas, entre a
psicoterapia e o ritual, prope um certo nmero de perspectivas antropolgicas
10
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 10 25/07/2013 09:08:43
apresentao
sobre a prtica teraputica. A anlise busca mostrar como a psicoterapia (mais
precisamente a terapia sistmica) mais complexa do que habitualmente se
entende por ritual, jogo, espetculo ou interao comum: a composio
especfica dessas diferentes modalidades de interao que lhe do uma forma e
uma lgica distintas.
J Franois Laplantine nos convida a pensar uma teoria do corpo segundo
o horizonte deleuziano do mltiplo, que consiste em formar, deformar, trans-
formar, remetendo mais ao ritmo e intensidade que ao espao. Segundo um
modelo que o autor qualifica de coreogrfico (por oposio ao modelo topogr-
fico), a antropologia do corpo deve envolver um pensamento da temporalida-
de atenta s modulaes do sensvel. Recusando o paradigma que privilegia a
discontinuidade e a estabilidade do signo, Laplantine dedica, assim, ateno
primria ao ritmo.
Encerrando a primeira parte do livro, Octavio Bonet enfatiza que a eficcia
simblica pode ser produzida somente quando as diferentes dimenses da pes-
soa podem se comportar como contexto para as outras e, lembrando como a
ideia de espao entre permite pensar a tenso criativa dos diferentes saberes,
descreve sua pesquisa de campo sobre terapia espiritual em um Centro de Sa-
de. O autor argumenta que os casos etnogrficos por ele citados no mostram o
poder dos smbolos de fazer coisas no mundo, mas o poder das relaes: o poder
do mundo interconectado.
A segunda parte, Ritual e transformao eficaz, que enfoca experincias et-
nogrficas em religio e ritual, inicia-se com o artigo de Arnaud Halloy. Este
retoma a importante questo da eficcia transformativa do ritual, abordando
desde as perspectivas cognitivas e pragmticas produo de formas singula-
res de experincia no concreto das aes e interaes rituais. Apresentando a
possesso no culto Xang de Recife, o autor define a experincia transformati-
va da incorporao considerando o desvio de certas operaes cognitivas in-
tuitivas, o acoplamento entre sensorialidade e simbolizao e a condensao
paradoxal de relaes comumente percebidas como mutuamente exclusivas.
Em seguinda, Bertrand Hell prope, a partir da observao etnogrfica so-
bre a iniciao em Mayotte ao culto dos tromba, um estudo centrado no sentido
vivido da possesso. O autor considera a relevncia da relao entre o trabalho
da iniciao e o processo de ancoragem que permite a induo hipntica. Nesta
11
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 11 25/07/2013 09:08:43
apresentao
perspectiva, a antropologia da possesso pode considerar com mais pertinncia
os mecanismos dos estmulos, a variabilidade das formas da possesso e o ajus-
te afetivo que caracteriza o crculo dos iniciados.
Numa espcie de texto compsito, Carlos Caroso retoma trechos da etno-
grafia produzida por Carlo Castaldi sobre trs terapeutas religiosos na ilha de
Itaparica. Debruando-se sobre a trajetria de um deles, o texto apresenta as
nuances e controvrsias decorrentes do poder da cura milagrosa do taumaturgo.
Estudando como no contexto do candombl restries comportamentais
chamadas quizilas (alimentares, cromticas, situacionais, etc.), acompanham
os iniciados no cotidiano, Francesca Bassi apresenta um estudo do papel di-
ferenciador destas interdies a partir da considerao de que elas decorrem
da insero do filho-de-santo nos diversos domnios dos orixs e dos odu os
signos do destino. A autora aborda a habilidosa ateno do filho de santo em
considerar alergias alimentares e acontecimentos negativos como eficcias
das quizilas, para alm de smbolos mticos rotulados.
Em seguida, Marcelo Ayres Camura argumenta em seu artigo como a no-
o de eficcia simblica foi utilizada num contexto alargado, no se referindo
unicamente sugesto simblica envolvendo o doente, curador e comunida-
de, mas deslocando o fenmeno singular das curas no sistema social, cultu-
ral, econmico ou psicolgico. O autor enfatiza a crise deste paradigma, assim
como a sua banalizao, em contraste com os desafios interpretativos lana-
dos pelo fenmeno.
Em trabalho que problematiza a etnomusicologia, Xavier Vatin argumenta
que a disciplina tem uma certa dificuldade em apreender a complexidade das
relaes da msica e da possesso, oscilando, aqum ou alm, em torno do
conceito de eficcia simblica. Estudando como os fenmenos de possesso
nas vrias naes de candombl so mais ou menos desencadeados, acompa-
nhados e regidos pela msica, o autor esclarece que as relaes entre msica e
possesso so, ao mesmo tempo, intrnsecas e extrnsecas, naturais e culturais,
fisiolgicas e simblicas.
O artigo de Ftima Tavares, que encerra a segunda parte do livro, apresenta
as experincias do candombl e da umbanda partir de uma perspectiva no es-
sencialista. A autora apresenta a potencialidade de dois conceitos. O primeiro,
de acontecimento implica em considerar modos de individuao no subje-
12
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 12 25/07/2013 09:08:44
apresentao
tivados; j no segundo, de agenciamento, explora a ideia de que as experin-
cias religiosas que emergem dos acontecimentos no compem um ncleo
duro a condensar pertencimentos e delinear fronteiras de convices doutri-
nrias ou cosmolgicas.
Voltando-se mais estritamente para a dimenso teraputica das trasfor-
maes dos sujeitos, a ltima sesso, Teraputicas em contexto, inicia-se com
o trabalho de Claudia Barcellos Rezende. Abordando uma gramtica emotiva
que opera no contexto dos grupos de apoio s gestantes, a autora mostra como
os sentimentos de ansiedade e medo so normalizados, permitindo, assim, a
vivncia de uma boa gravidez. Ressalta ainda que, segundo um carter moral
implcito, o foco dado a estas emoes parece se relacionar vivncia de uma
experincia corporal desconhecida e, com isso, dificuldade de no ter con-
trole sobre o corpo, em uma sociedade na qual a maternidade deixou de ser
natural e tornou-se uma escolha a ser vivenciada como sujeito equilibrado.
O artigo de Annette Leibing o resultado de uma pesquisa sobre como os
enfermeiros comunitrios que trabalham com idosos, pacientes de sade men-
tal em Quebec, se referem adeso ao tratamento mdico. A autora afirma que
o conceito de adeso precisa ser radicalmente repensado segundo a questo
do envolvimento em termos latourianos. Para entender melhor a adeso, a con-
fiana e o cuidado no contexto do sistema de sade de Quebec, os pesquisado-
res devem evitar tanto o desmerecimento quanto a idealizao dos conceitos.
No captulo seguinte temos o trabalho de Rachel Aisengart Menezes sobre
as decises em torno do final da vida, onde a autora mostra que os modelos
de construo da boa morte surgem tanto a partir de negociaes em torno
dos distintos sentidos atribudos pelos sujeitos quanto no mbito das relaes
entre os atores sociais envolvidos (equipe de sade, rede de sociabilidade). As
novas proposies de gesto do morrer, como leis, normas, resolues, entre
outras, tambm devem ser levadas em conta.
Finalizando o livro, temos o trabalho de Mnica Franch e Artur Perrusi, que
aborda algumas das transformaes que vm ocorrendo no tratamento mdico
da AIDS, enfatizando a questo da sorodiscordncia. A pesquisa, realizada em
Joo Pessoa, desvenda a lgica que caracteriza a ao dos servios de sade e as
adaptaes, as resistncias e as reinterpretaes norma teraputica preventi-
va dos casais sorodiscordantes.
13
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 13 25/07/2013 09:08:44
apresentao
Antes de encerrar gostaramos de agradecer a todos os colaboradores, cole-
gas prximos ou mais distantes, que aceitaram prontamente participar desta
empreitada. Capes, que atravs do Programa Prodoc contribuiu para a reali-
zao do livro, e por fim, um agradecimento muito especial antroploga La
Perez amiga e parceira intelectual e seus orientandos e alunos da UFMG,
que viabilizaram tradues e revises de vrios artigos deste livro.
14
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 14 25/07/2013 09:08:44
PARTE 1
Revisitando conceitos
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 15 25/07/2013 09:08:44
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 16 25/07/2013 09:08:44
Efeitos, smbolos e crenas
Consideraes para um comeo de conversa
Ftima Tavares
Francesca Bassi
Tanto no Esboo de uma teoria geral da magia, sobre os efeitos fsicos negativos
no indivduo, induzidos pelas representaes coletivas de tipo mgico religio-
so (depresso, estados de atonia fatal decorrente da sugesto relativa aos ata-
ques de feitiaria ou quebra involuntria de tabus, relatados em reas etno-
grficas polinsias e australianas), quanto em seu ensaio sobre as tcnicas do
corpo, Mauss (2003b) situa a sociologia nos auspcios de um dilogo frutfero
com a psicologia e a biologia (fisiologia). A questo da influncia dos smbo-
los coletivos na psicologia do indivduo toma novos contornos no debate que
Lvi-Strauss entretm, vinte anos depois, com a psicanlise, sobre os efeitos
fisiolgicos e teraputicos originados por representaes mticas. Trata-se da
denominada eficcia simblica, tpico que iria ganhar uma ateno particu-
lar na antropologia estruturalista.
Nessa abordagem, o conceito de eficcia simblica se referia s modifi-
caes psicolgicas e fisiolgicas, tributrias da explicitao, em contextos
teraputicos tradicionais, de contedos mticos. Baseando-se numa cura xa-
mnica dos Cuna do Panam, Lvi-Strauss (1996) ilustra como a identificao
do doente (no caso, uma parturiente) com os smbolos mticos de um canto
ritual leva a uma resposta semelhante ab-reao, isto , uma descarga emo-
cional com funes catrticas. A soluo do estado patolgico seguiria, assim,
um caminho que iria do mito coletivo ao mental e ao fisiolgico. Tanto na pr-
tica psicanaltica como na terapia xamnica citada, h, segundo Lvi-Strauss,
atribuio de eficcia teraputica a uma funo simblica universal que se
explicita no papel ordenador da significao atravs da reconstruo de repre-
sentaes adequadas. A narrao, seja ela ligada a eventos biogrficos esque-
cidos ou a fatos mticos, produz uma identificao de tipo metafrico entre as
17
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 17 25/07/2013 09:08:44
ftima tavares e francesca bassi
representaes e as amarras traumticas do paciente. O canto do xam, anali-
sado enquanto narrao de uma viagem e como uma guerra bem sucedida, e
apresentado como metfora do trabalho de parto com efeito benfico sobre os
rgos implicados, constitui, portanto, uma manipulao psicolgica do r-
go doente operada simbolicamente, encontrando-se num meio-termo entre
a cura orgnica e a psicolgica.
No se trata de entrar no mrito da definio da eficcia simblica elabo-
rada por Lvi-Strauss, mas de considerar aquelas posies terico-metodol-
gicas da antropologia que consentem pensar na eficcia dos rituais para alm
da dimenso ordenadora das representaes. Diferentes autores manifestam
hoje certa perplexidade sobre a utilidade de critrios semnticos nos estudos
dos rituais, cujo simbolismo pode ser compreendido de maneira varivel, se-
gundo as posies sociais dos participantes. Mas, em geral, a ideia de que sm-
bolos presentes no ritual constituam um acervo consensual, a-histrico, pare-
ce sempre menos defensvel e a finalidade transformativa do ritual a partir de
uma funo simblica ordenadora mal se acomoda com a atuao no ritual de
relaes especiais que apresentam uma natureza polissmica, paradoxal, ou
uma condensao de papis contraditrios. (HOUSEMAN, 2006)
Mas os conceitos e o de eficcia simblica certamente no constitui uma
exceo nem sempre foram problematizados na tradio antropolgica. Lon-
ge de apresentar um balano da trajetria do conceito de eficcia simblica
tarefa brilhantemente realizada por Snia Maluf em trabalho que faz parte
desta coletnea , nossa inteno deliberadamente assistemtica: queremos
sugerir pistas, propor caminhos, situar questes.
Sem a pretenso de localizar a origem do problema, pode-se sugerir um
ponto de inflexo produzido por Malinowski, que foi o de relativizar as fron-
teiras entre religio e magia, estabelecendo uma linha de continuidade a partir
da distino operada entre atos rituais e tcnicos. Recusando a ideia de que
magia e religio so frutos de processos especulativos, o argumento recai so-
bre as diferentes respostas s angstias geradas nas situaes da vida cotidia-
na. A magia comparece como um recurso auxiliar na resoluo de problemas
especficos, remetendo a uma esfera prtica; a religio, por sua vez, agudiza
a dimenso ritual que lhe intrnseca, na medida em que reside nela sua fi-
nalidade ltima, que a de propiciar a integrao do social. (DURHAM, 1986)
18
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 18 25/07/2013 09:08:44
efeitos, simbolos e crenas: consideraes para um comeo de conversa
Atravessando inmeros autores e escolas, a distino entre eficcia tcnica e
simblica sempre acompanhou o debate, constituindo-se como tipos de ao
ou dimenses da ao, essa ltima caracterizao explicitada no trabalho de
Leach (1976) sobre os Kachim.1
Armadilhas para o pensamento: agindo nos paradoxos
O debate sobre as definies de diferentes campos de ao eficaz, decorrente
dos recortes categricos culturalmente determinados (magia, religio, tcni-
cas etc.), conflui para a necessidade de reconsiderar a eficcia simblica desses
tipos de atos chamados ritos, que so inscritos na vida social e contribuem
para definir contextos variados. Como indicou Pierre Smith (1979; 1991), atos
marcados por sequncias predefinidas e pela manipulao de objetos de uma
forma que extrapola o uso ordinrio, os rituais parecem menos dirigidos
compreenso de smbolos e mais fascinao dos espritos: Armadilhas para
o pensamento, suportes de simulaes e portadores de iluses, atraentes por
recorrer s magias da arte, os ritos cativam e capturam o esprito para faz-lo
conforme ao que a experincia tradicional espera e que se encontra, ao mesmo
tempo, origem deles. (SMITH, 1991, p. 631, traduo nossa)
Se, como sugere este terico do rito, a eficcia transformativa em pauta
mais paradoxal que significativa, os estudos dos atos eficazes devem se diri-
gir para alm de orientaes de tipo semntico, abdicando da anlise das pro-
priedades transformativas que se fazem em ao. Portanto, a mobilizao de
smbolos nas sequncias dos atos rituais, envolvendo menos a significao e
mais a adeso, permite, tanto nas finalidades da vida associada quanto na ne-
cessidade geralmente humana, de conjugar afeco e pensamento. Em ltima
anlise, a noo da eficcia ritual, considerada por este autor como armadilha
do pensamento (pige pour la pense), nos remete a algo muito prximo no-
o de afetao de Jeanne Favret-Saada (1990).
1 Redirecionando a compreenso do ritual, o autor considera tratar-se de um aspecto especfico de toda ao
social. Distintas em suas finalidades, as dimenses tcnica e simblica encontram-se articuladas no mbito de
um mesmo processo.
19
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 19 25/07/2013 09:08:44
ftima tavares e francesca bassi
Faz quase um decnio que os estudos sobre rituais foram renovados a partir
da anlise das sequncias dos atos que os constituem, provocando disposies
intencionais especficas. (HUMPHREY; LAINDLAW, 1994) Se os participantes
de um ritual no so intrpretes uniformes da significao do texto, muitas
vezes pouco compreensvel ou obscuro, e se os contextos rituais comunicam
realidades relacionais especiais, acolhidas pelos participantes para alm das
escassas propriedades semnticas dos enunciados, muitas vezes lacnicos,2
quais so ento os aspectos contextuais que podem ser levados em conta para
entender o fenmeno da eficcia transformativa do ritual?
Houseman e Severi (1994) contribuem, segundo uma tica relacional ins-
pirada em Bateson, para definir a natureza extraordinria da comunicao ri-
tual que, por meio de interaes particulares, estabelece, entre outras coisas,
a identidade paradoxal dos participantes marcada por conotaes contradit-
rias. Nesta perspectiva coloca-se tambm o estudo de Severi (2002), do famoso
canto Mu Igala, dos Cuna o mesmo tratado por Lvi-Strauss no ensaio sobre
a eficcia simblica , analisado, desta vez, em relao reflexividade que o
processo de enunciao do xam proporciona ao destinatrio sobre a sua iden-
tidade paradoxal. O canto xamnico atua em realidades extraordinrias e diz
ao respeito crena, pois, argumenta Severi (2002, p.26), o poder do xam
sempre questionado nestes contextos rituais (notoriamente competitiva a
relao entre os mesmos xams), e justamente na tenso com a dvida que
a crena atuada. Olhando como, no canto citado, o xam vai se autodefi-
nindo outro e ele mesmo simultaneamente, ativando, assim, no destinatrio,
dvidas sobre o paradoxo enunciado, o autor aborda a reflexividade como um
elemento ainda inexplorado do contexto de comunicao especial do ritual,
escolhendo-o como um ponto de anlise privilegiado da atuao da crena.
Tentando resumir o texto de Severi para nossa discusso sobre a eficcia
ritual, o que chama ateno a definio do enunciador que vai se propon-
do como uma identidade dupla. A reflexividade interna (o xam definindo ele
mesmo) tem como efeito a criao de um mundo paralelo e a transformao do
prprio enunciador em uma presena sobrenatural. (SEVERI, 2002, p.32) Ilus-
trando esta transformao, Severi relata como, por meio de enunciados que se
2 Basta pensar em frmulas mgicas, encantamentos, rezas etc.
20
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 20 25/07/2013 09:08:44
efeitos, simbolos e crenas: consideraes para um comeo de conversa
referem sua pessoa, o xam descreve, na introduo do canto, os gestos e os
preparativos necessrios ao ritual teraputico: ele se autorrepresenta na ter-
ceira pessoa e no tempo presente, embora esses gestos e tarefas preliminares
j tenham sido executados, provocando, assim, um curto-circuito temporal e
obtendo como efeito um reflexo infinito dele mesmo.3 antes da descrio da
viagem xamnica que o resultado de uma efetiva duplicao da imagem do
enunciador e um desdobramento do espao so obtidos:
[...] a partir do momento que o cantor faz meno de um cantor que vai co-
mear o seu canto, do ponto de vista da definio do enunciador (antes da
narrao da viagem xamnica), uma nova situao se estabelece: os enun-
ciadores se tornaram dois, um sendo o paralelo do outro. Tem aquele que
dito estar l (no campo descrito pelo canto, se preparando na viagem na terra
subterrnea), e tem aquele dizendo que est aqui (perto da rede[...]), cantan-
do. (SEVERI, 2002, p. 32-33, grifos do autor)
Em outros cantos Cuna estudados por Severi (2002, p.35-36), o xam se
descreve engajado em uma luta com diversos animais provocadores de doen-
as (notadamente a loucura) e, paradoxalmente, a sua voz os encarna imitan-
do os versos. A performance vocal do xam, que permite tornar presente tanto
o animal quanto o adversrio terapeuta (o xam mesmo), antes convocada
a determinar a sua identidade mltipla que a introduzir elementos semnti-
cos novos. A tcnica de enunciao usada no canto, ao mesmo tempo em que
permite ao xam definir as identidades acumuladas (as vozes, neste exem-
plo), quebra a linearidade do texto narrativo comunicando realidades contra-
ditrias, isto , agncias paralelas ritualmente construdas. Surgem, assim,
questes relativas autenticidade da enunciao: ela correta, verdadeira?
Em outras palavras, a assimilao da identidade ordinria do xam a um ser
sobrenatural, a construo do mundo paralelo transformador (lugar de cura,
antes de tudo), so obtidas com uma comunicao lingustica cujo carter es-
pecial gera as condies para provocar um questionamento implcito sobre a
crena e, portanto, a sua efetivao.
3 Trata-se de uma forma de regressus ad infinitum, como indica Severi (2002. p. 31), isto , um xam sentado ao
lado do braseiro, aos ps da rede, onde deita a mulher dando luz, descrevendo um xam sentado perto do
braseiro [...].
21
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 21 25/07/2013 09:08:44
ftima tavares e francesca bassi
Assim, se bem seguimos Severi (2002, p. 38-39), podemos concluir que a
crena na transformao do mundo que o xam Cuna prope, implicitamente
desafiada e testada no andamento do canto ritual, diz respeito ao efeito per-
locutrio do ato lingustico do xam, isto , do resultado de um processo in-
terativo centrado no destinatrio. Diz tambm respeito construo daquele
contexto especial que costumamos chamar de ritual, cuja eficcia operativa
repousa em transformaes que, antes de depender de uma funo simblica
universal estruturada nas leis do inconsciente, depende de atuaes lingusti-
cas e gestuais particulares. Pode-se afirmar, assim, que a eficcia simblica no
se liga automaticamente recepo de representaes coletivas ou smbolos
em contextos neutros, pois as representaes podem ser transmitidas somente
quando os enunciados so bem feitos, isto , quando as condies da prtica
ritual so respeitadas, quando ela tem efeitos sobre o destinatrio.
Os enunciados cujos efeitos pragmticos (perlocutrios) so chamados a
gerar a crena constituem um elemento entre os outros tpico da comunica-
o paradoxal dos rituais. Objetos manipulados e frases pronunciadas no ritual
podem no apresentar significados claros, mas podem ser considerados par-
ticularmente reais quando se estruturam como experincias e so devolvi-
das, cognitivamente, no final da performance, como causalidades de relaes
j existentes. Nesse ponto, Michael Houseman trata a questo de um ritual de
iniciao masculina por ele inventado e experimentado:
O Vermelho e o Negro, como os rituais em geral, no criam nada ex nihilo:
relaes desiguais entre homens e mulheres na cultura ocidental moderna
so tanto uma premissa quanto um resultado de sua performance. Todavia, o
que esse ritual faz conferir nova vida discriminao sexual, expressando-
-a no idioma da experincia, amplamente irrefutvel ainda que difcil de de-
finir, propiciada pela performance. (HOUSEMAN, 2003, p. 96)
Segundo Houseman (2003, p. 80-81),
a eficcia distintiva do rito deriva, antes de tudo, no de seu simbolismo
substantivo, nem de suas consequncias pragmticas, nem, enfim, de suas
qualidades performativas, mas da prpria atuao das relaes especiais que
sua execuo envolve.
22
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 22 25/07/2013 09:08:44
efeitos, simbolos e crenas: consideraes para um comeo de conversa
A noo de eficcia (a factualidade, o acontecimento real) no remete a uma
cosmologia, nem a vises do mundo ou a sistemas prvios de representaes,
mas a atuaes de relaes (enactement), conhecidas no momento da performan-
ce segundo um uso ad hoc dos smbolos. O acontecimento real da performance
ritual a criao de uma certa verdade, pois um novo tipo de interao confere s
relaes preexistentes um idioma irrefutvel que gerador de eficcia: o antes
e o depois do ritual no so o mesmo, diz Houseman (2003, p. 80).
Voltando questo da eficcia simblica, difcil saber se, no caso ilustra-
do por Lvi-Strauss, no momento da cura xamnica, o paciente (a parturiente,
neste caso) chega a escutar as palavras e a compreender as metforas do can-
to, cuja enunciao e compreenso so apangio de especialista. Portanto, se,
por um lado, a afetao atravs da enunciao dos smbolos mticos do canto
permanece aberta a questionamentos, ao ponto que podemos supor que zonas
de sombra da significao so preenchidas pelos afetos do paciente; por outro,
os estudos citados sobre o ritual duvidam de que os efeitos possam depender
de uma funo simblica universal, capaz, por ela mesma, de eficcia, para
investigar maneiras especiais (eficazes) de atuar nas relaes atravs de uma
mobilizao particular dos smbolos.
Pessoas e smbolos nas armadilhas da mediao: invenes e inatismos
Essa suspeita em torno da universalidade das propriedades representativas
dos smbolos foi tenazmente questionada por Wagner (2010) em trabalho, hoje
clssico, intitulado A inveno da cultura. Logo no incio do livro, o autor adver-
te que no intenta uma abordagem dos smbolos mais realista do que o rei,
mais completa do que os smbolos falando sobre si mesmos. Essa seria uma
tarefa fadada incompletude, j que:
[...] smbolos e pessoas existem em uma relao de mediao mtua eles
so demnios que nos assediam assim como somos os que assediam a eles
, e a questo de saber se coletivizar ou diferenciar so afinal disposies
simblicas ou humanas se v irremediavelmente enredada nas armadilhas
da mediao. (WAGNER, 2010, p. 23)
23
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 23 25/07/2013 09:08:44
ftima tavares e francesca bassi
Deixamos para trs uma percepo de Teoria (no sentido forte) da sim-
bolizao para uma abordagem relacional dos estilos de simbolizao cons-
trudos nas relaes entre contextos, nas maneiras pelas quais criamos e
experienciamos contextos. (WAGNER, 2010, p. 77) Apresentando, contrasti-
vamente, a dialtica entre os modos de simbolizao coletivizante e diferen-
ciador, onde um inevitavelmente precipita o seu inverso, Wagner ressalta que
toda a diferena reside em considerar qual das formas se apresenta como apro-
priada ao humana e ao reino do que inato.
Simbolizaes convencionais e diferenciantes, embora se encontrem dia-
leticamente entrelaadas, produzem efeitos muito diversos dependendo da
ateno deliberada daquele que executa (como diz Wagner, o contexto de con-
trole). Ns, ocidentais, escolhemos deliberadamente a simbolizao coletivi-
zante, designando por cultura o conjunto dos efeitos dessa simbolizao. No
entanto, outros povos, outros estilos de criatividade:
Mas o que dizer daqueles povos que convencionalmente fazem o particular
e o incidental, cujas vidas parecem ser uma espcie de improvisao cont-
nua? Podemos entend-los em termos de algo que ns fazemos e que eles
no se esforam deliberadamente para realizar? Ao tornar a inveno, e por-
tanto o tempo, o crescimento e a mudana uma parte do seu fazer delibera-
do, eles precipitam algo anlogo nossa Cultura, mas no o concebem e no
podem conceb-lo como Cultura. Esse algo no artifcio, e sim o universo. O
que para ns visto como normas a ser observadas, para eles o dado, o
inato, e no pode ser objeto de aprendizado (como para ns), mas de per-
cepo e revelao. (WAGNER, 2010. p. 143, grifo nosso)
Quando a conveno cultural orienta-se deliberadamente no sentido da
simbolizao diferenciante, os efeitos das aes no so percebidos da mesma
forma que nas tradies coletivizantes. Assim, categorias usualmente utiliza-
das para compreender a eficcia simblica, tais como cdigos (a serem exe-
cutados ou metaforizados) ou desempenho, so inadequadas, uma vez que
remetem a uma teoria da ao especificamente ocidental:
A eficcia das aes, nesse caso, no compreendida como consequncia
das aes. Da a necessidade de no as considerarmos de forma literal, mas
indiretamente. As propriedades inatas das coisas so ludibriadas, compeli-
24
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 24 25/07/2013 09:08:44
efeitos, simbolos e crenas: consideraes para um comeo de conversa
das, aduladas, elicitadas [...] pela ao humana, mas no geradas por essa
ao. (WAGNER, 2010, p. 146)
Ao problematizar as relaes entre causa e efeito, Strathern (2006) nos ad-
verte dessa armadilha de relegar ao domnio da eficcia simblica apenas as
expresses representativas (inertes quanto sua capacidade criadora). De fato,
argumenta a autora, o prprio conceito de ao sofre um importante desloca-
mento: Em lugar, ento, do que poderamos supor ser uma teoria da constru-
o simblica, encontramos uma teoria da ao social. A ao tambm pode
ser entendida como um efeito, como uma performance ou apresentao, uma
estimativa mtua de valor. (STRATHERN, 2006, p. 264, grifo da autora)
s diferenas no contexto de controle da simbolizao (coletivizante ou di-
ferenciadora) seguem-se diferenas no conceito de ao-relao desencadeado
pelos participantes, humanos e no humanos. O conceito de ao ritual adquire
novas possibilidades heursticas, brilhantemente descritas e sistematizadas no
j citado trabalho de Strathern. Para isso, ela mesmo destaca a originalidade da
formulao de Wagner nas diferenas de simbolizao, mobilizando suas pos-
sibilidades contrastivas para captar formaes distintas das nossas:
Na verdade, a de Wagner a melhor formulao dessa posio terica, pois
envolve simultaneamente as tendncias ocidental e melansia, com a idia
de que um smbolo tanto uma expresso convencional, artificial, de algo j
(inventado) existente por si prprio, como o desejo inventivo de extrair das
relaes e das pessoas as capacidades inatas (convencionadas) que nelas se
encontram. Enquanto uma se apia numa noo articuladora de arbitrarie-
dade (cultura), a outra se apia numa noo de incerteza (e, por isso, poder),
na noo de uma situao que no se caracteiza por um sentido fixo. (STRA-
THERN, 2006, p. 265, grifo da autora)
guisa de concluso: desfazendo dicotomias, fazendo simetrias
A importncia dessas contribuies vem destronando uma srie de dualismos
que foram erguidos tais como magia e cincia, crenas e fatos , estabelecen-
do clivagens poderosas de cunho epistemolgico e ontolgico entre ns e os
outros. Contrastivamente eficcia instrumental, o senso comum antropol-
gico durante muito tempo mobilizou significados que relegaram num mesmo
25
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 25 25/07/2013 09:08:44
ftima tavares e francesca bassi
contexto noes como eficcia simblica e eficcia ritual fazendo, com isso,
aluso a uma classe especial de efeitos da ao, subjetiva ou intersubjetiva-
mente compreedidos e partilhados pelos participantes.
Vimos como, segundo os citados tericos do rito, a eficcia ritual vai para
alm da eficcia simblica, submetendo atuao de relaes (enactement) no
momento da performance segundo um uso geralmente paradoxal e ambguo
de objetos, e segundo tcnicas lingusticas e gestuais que cativam a ateno
e produzem disposies mentais determinadas. Trata-se de uma atuao que
pode ter efeitos quando critrios pragmticos so respeitados, e cuja adeso,
comumente chamada de crena, no concorda com o invlucro semntico da
palavra na tradio crist, pois no alude coexistncia do seu oposto. (POU-
ILLON, 1979) A eventual assero dubitativa na eficcia do ritual relativa ao
objetivo andamento do mesmo, sua habilitao em produzir fatos segundo
meticulosos procedimentos, de forma que no cabe na rotulada dicotomia en-
tre o objetivo, factual e fsico e o subjetivo, especulativo e metafsico.
A crena designao possvel para essa forma peculiar de eficcia como
ato de f absoluta (creio ou no creio) o que Latour (2002) chama de crena
ingnua e que contm os pressupostos universalistas das religies ticas. As
condies ritualistas de atuao da crena so ligadas a construes de efic-
cias: objetos eficazes chamados de fetiches, como ressalta este autor.
O conceito de crena (ingnua) de pouca valia para a compreenso da efi-
ccia da heterogeneidade dos contextos de ao ao abord-los nos termos du-
alistas das causas (subjetivas e/ou intersubjetivas) e efeitos (objetivos). Como
sugere Latour no mesmo trabalho, na nossa concepo moderna (oficial), fatos
e crenas devem ser distinguidos sob pena de nos envolvermos no seguinte pa-
radoxo: se as crenas remetem a vises de mundo ancoradas nas configuraes
da cultura, como podem produzir efeitos reais (na natureza dos corpos)?
Na antropologia, o conceito de eficcia simblica tradicionalmente utilizado
como uma possibilidade alternativa a esse dilema, sem, no entanto, dirimi-lo.
Somente aos fatos (da natureza ou da sociedade) que normalmente concede-
mos realidade ontolgica. Para aqueles que confundem fatos e crenas (nature-
za e sociedade), reservamos a possibilidade de compreend-los no mbito do
seu contexto social, onde, absolvidos da acusao de irracionalidade, podem
26
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 26 25/07/2013 09:08:44
efeitos, simbolos e crenas: consideraes para um comeo de conversa
ser reabilitados em sua ingnua percepo do real: so representaes, dizemos.
(VIVEIROS DE CASTRO, 2002)
Tratar como crena (ingnua) as prticas no instrumentais no co-
nhec-las, mas, ainda como enfatiza Latour (2002), apenas indica um modo
polmico de se relacionar com elas. Mesmo quando adotamos uma atitude
respeitosa e compreensiva em relao s crenas dos outros, como possvel
lev-las a srio, j que so apenas crenas? O potencial acusatrio envolvido
nessa pergunta no nos oferece uma descrio adequada de como as coisas se
passam com os outros e nem com ns mesmos. O que a crtica moderna no
considera, obcecada pelo exerccio da suspeio entre o que real (os fatos) e o
construdo (o simblico), o carter surpreendente da ao, onde no existem,
de um lado, sujeitos que fazem, nem, de outro lado, coisas que so feitas.
Todos ns, antroplogos ou no, assim como os artefatos (j feitos e os ainda
em construo), estamos conjuntamente implicados.
Concluindo, sugerimos simplesmente que se atribuies de diversas in-
tencionalidades (objetivas ou subjetivas) ou de diversos poderes (simblicos
ou reais) variam em diferentes contextos (rituais, teraputicos, tcnicos etc.),
segundo particulares construtos histrico-culturais, com olhar simtrico
que podemos apreciar como as tradies (a tcnico-cientfica includa) ope-
ram um ocultamento dos prprios procedimentos internos. No podemos,
portanto, deixar de evocar a metfora de um campo de pesquisa que por sua
prpria natureza semeado de fascinantes armadilhas, chaves e pistas.
Referncias
DURHAM, Eunice. Uma nova viso da antropologia. In: MALINOWSKI, Bronislaw.
Bronislaw Malinowski. Coordenao Eunice Durham. So Paulo: Ed. tica, 1986.
FAVRET-SAADA, Jeanne. Ser afetado. Cadernos de Campo, v. 13, n. 14, 2005. p.155-161.
HOUSEMAN, Michael. O vermelho e o negro: um experimento para pensar o ritual.
Mana, v. 9, n. 2, 2003. p. 79-107.
__________. Relationality. In: KREINATH, J.; SNOEK, J.; STAUSBERG, M. (Ed.). Theorizing
Rituals: classical topics, theoretical approaches, analytical concepts, annotated
bibliography. Leiden: Brill, 2006.
27
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 27 25/07/2013 09:08:44
ftima tavares e francesca bassi
HOUSEMAN, Michael; SEVERI, Carlo. Naven ou Le donner voir: essai dinterprtation
de laction rituelle. Paris: CNRS-ditions; ditions. la Maison des Sciences de lhomme,
1994.
HUMPHREY, Caroline; LAIDLAW, James. The archetypal actions of ritual: a theory of
ritual illustrated by the jain rite of worship. Oxford: Clarendon Press, 1994.
LATOUR, Bruno. Reflexo sobre o culto modernos dos deuses fe(i)tiches. Bauru: EDUSC,
2002.
LEACH, Edmund. Sistemas polticos de la Alta Birmnia. Barcelona: Editorial Anagrama,
1976.
LVI-STRAUSS, Claude. A eficcia simblica. In: __________. Antropologia estrutural. Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996.
MAUSS, Marcel. Efeito fsico no indivduo da idia de morte sugerida pela coletividade
(Austrlia, Nova Zelndia). In: __________; Sociologia e Antropologia. So Paulo: Cosac &
Naify, 2003a.
__________.As Tcnicas do corpo. In: __________. Sociologia e Antropologia. So Paulo: Cosac
& Naify, 2003b.
POUILLON, Jean. Remarques sur le verbe croire. In. IZARD, M.; SMITH,P. (Org.), La
Fonction symbolique: essais danthropologie. Paris: Gallimard, 1979. p. 43-51.
SEVERI, Carlo. Memory, reflexivity and belief. Reflections on the ritual use of
language. Social Anthropology, v. 10, n. 1, 2002. p. 23-40.
SMITH, Pierre. Aspects de lorganisation des rites. In. IZARD, M. SMITH,P. (Org.), La
Fonction symbolique. essais danthropologie. Paris: Gallimard, 1979. p.139-170.
SMITH, Pierre. Rite. In: BONTE, P.; IZARD, M. (Ed.), Dictionnaire de lEthnologie et de
lAnthropologie. Paris: PUF, 1991. p. 630-633.
STRATHERN, Marilyn. O Gnero da ddiva. Campinas, So Paulo: Ed Unicamp, 2006.
WAGNER, Roy. A inveno da cultura. So Paulo: Cosac Naify, 2010.
VIVEIROS DE CASTRO, E. O nativo relativo. Mana, v. 8, n. 1, 2002. p. 113-148.
28
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 28 25/07/2013 09:08:44
Eficcia simblica
Dilemas tericos e desafios etnogrficos
Snia Weidner Maluf
A noo de eficcia simblica, desenvolvida por Lvi-Strauss em dois artigos
sobre o xamanismo, ganhou uma amplitude e uma extenso para alm das pr-
ticas xamnicas, constituindo um verdadeiro percurso prprio nos campos da
cura ritual, das articulaes entre sade e religio, das terapias no convencio-
nais e externas biomedicina, mas tambm da feitiaria e da bruxaria, benze-
o e desembruxamento. De modo geral, a noo de eficcia simblica passou a
caracterizar e a descrever toda forma de ao, e em especial de ao voltada para
a cura, que escaparia causalidade mecnica ou orgnica da lgica biomdica
e cientfica. Se a eficcia da cura e dos tratamentos no campo da biomedicina
medida pelo sucesso da relao entre causa e efeito, ao mecnica, orgnica,
qumica etc, a eficcia simblica remeteria a outra dimenso dos efeitos de um
determinado tipo de ao e de experincia. Questes como a dicotomia entre a
ordem objetiva e a subjetiva, entre o fsico e o moral, entre matria e smbolo,
entre representacionismo e pragmatismo esto em jogo nessa diferena entre
as duas dimenses da cura, diferena que de certo modo reinstaura a dicotomia
entre magia e cincia eou entre religio e cincia. Ou entre rito e tcnica.
Na eficcia simblica, so os smbolos que agem como objetos ou so os
objetos que agem como smbolos? O objetivo deste artigo de repensar essa
noo, seus limites e potencialidades para a compreenso de certas prticas
e representaes sociais ligadas cura ritual, aos processos de adoecimento
e cura e aos vrios recursos teraputicos utilizados, construo e transfor-
mao ritual de pessoa e corporalidade, entre outros temas. O foco, a partir de
minha prpria experincia de pesquisa, ser a questo da cura ritual e dos pro-
cedimentos teraputicos na relao entre cura e religiosidade ou espiritualida-
de. A reflexo ser desenvolvida em torno de trs abordagens complementares:
29
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 29 25/07/2013 09:08:44
snia weidner maluf
1) os desafios etnogrficos colocados noo de eficcia simblica, buscando en-
tender os dispositivos que operam numa situao de cura ritual;
2) os percursos da noo de eficcia no campo da antropologia e das cincias so-
ciais, atravs de um retorno aos textos e autores que inicialmente lanaram e
buscaram definir a noo de eficcia (mgica, ritual e simblica), feito a partir
de uma leitura a contrapelo, no apenas focada no argumento central desses
autores, mas buscando alguns elementos residuais ou perifricos que possam
ter algum rendimento para uma discusso contempornea sobre o conceito e
3) os desafios tericos atuais em torno da noo e seu rendimento para a pesquisa
antropolgica, a partir de suas apropriaes pelos estudos de antropologia da
sade e estudos de ritual, e as abordagens da cura ritual, conforme os paradig-
mas da pragmtica da linguagem e das teorias da performance.
Finalmente, sero discutidos alguns elementos para uma abordagem para
alm das dicotomias descritas acima.
Desafios etnogrficos sobre a eficcia simblica
Em um trabalho anterior (Maluf, 1996, 2005) discuti o conceito de eficcia
simblica buscando compreender de forma mais ampla os mecanismos, dispo-
sitivos, tcnicas e procedimentos que operam no momento de uma cura ritual
no universo das chamadas culturas da nova era no Brasil. Minha discusso
objetivava, de um lado, mostrar as relaes estreitas entre as dimenses tera-
puticas e espirituais, ou teraputicas e rituais das prticas e representaes
dos sujeitos envolvidos nessas experincias, o sentido teraputico das prti-
cas rituais e as dimenses espirituais ou religiosas das prticas teraputicas,
evidenciando que definir uma determinada forma de ao como teraputica
ou religiosa no depende da ao em si, mas dos sentidos dados a estas num
contexto social particular. De outro, buscava descrever e compreender como
funcionam, como operam os mecanismos e a lgica da cura ou do alvio do
sofrimento e da aflio numa situao teraputica e/ou ritual nesse universo.
Um conceito central que apareceu em campo e que se mostrou fundamental
para compreender esses mecanismos foi o de trabalho, utilizado para designar
as diversas atividades rituais e teraputicas e as duas dimenses dos agencia-
mentos individuais e coletivos: os ligados situao teraputica e ritual pro-
priamente dita, os procedimentos, tcnicas e aes realizadas pelos partici-
30
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 30 25/07/2013 09:08:44
eficcia simblica: dilemas tericos e desafios etnogrficos
pantes, no apenas das pessoas envolvidas, mas tambm dos demais agentes
envolvidos no processo de cura ritual, entidades espirituais, foras e energias,
objetos e substncias que fazem parte do evento ou que por ele circulam. Essa
definio do trabalho teraputico e dos agenciamentos que envolve se estende
para outros universos espirituais e religiosos, como o das religies afrobrasi-
leiras, onde trabalho se refere tanto ao ritual com os orixs e as demais enti-
dades, quanto s obrigaes do fiel em relao religio e a essas entidades e
orixs. No Santo Daime, trabalho refere-se tambm ao ritual. Um outro univer-
so no qual, na linguagem comum de adeptos e praticantes, a noo de trabalho
era bastante usada, principalmente no decorrer dos anos 1970 e 1980, no Brasil,
o da psicanlise e das culturas psicanalticas, designando, sobretudo, a ex-
perincia do indivduo envolvido em anlise ou em autoanlise. A presena
da psicanlise aqui tem um sentido especial, porque justamente a esta que
Lvi-Strauss ir comparar e contrapor o xamanismo para discutir seu conceito
de eficcia simblica.
Para ir alm das prticas rituais ou teraputicas, o outro campo semntico
ao qual a noo de trabalho responde, e que complementar ao descrito aci-
ma, refere-se a um projeto ou estilo de vida em que um esforo investido no
sentido da vivncia do sofrimento e de sua superao ou transcendncia na
direo de uma reinveno de si. A eficcia simblica est ligada aqui ideia
de transformao de si, metamorfoses do self, emergncia do sujeito. Eficcia
como cura, de um lado, e eficcia como modo de subjetivao, de outro.
Operam nesses dois sentidos do trabalho ritual e teraputico duas dimen-
ses complementares: a ideia de transformao (de um conjunto de afeces a
outro, do sofrimento cura ou ao alvio, de si, etc.); e a ideia de agncia, ao,
prtica ou prxis individual ou coletiva, dimenso apenas residual ou seno
ausente nas diferentes formulaes e usos do conceito de eficcia simblica
na anlise antropolgica. Seria a dimenso da agncia e da prxis (individual
ou coletiva) um dos limites, o que no estaria contido nas diferentes formula-
es do conceito? Essa uma primeira questo que pretendo formular de for-
ma mais detalhada adiante. O trabalho ritual ou teraputico opera uma trans-
formao, e esta que baliza toda a questo da eficcia resultante do esforo
investido. A noo de eficcia como transformao est presente j nas for-
mulaes de Lvi-Strauss e compe uma de suas perguntas no respondidas:
31
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 31 25/07/2013 09:08:44
snia weidner maluf
a de como transformaes simblicas produzem ou induzem transformaes
orgnicas ou fisiolgicas. Na discusso do autor, o conceito de analogia (entre
diferentes planos estruturais) se sobrepe e eventualmente exclui o de agncia.
Alm disso, conforme discuto nos textos mencionados (MALUF, 1989, 1993,
1996), o trabalho teraputico e ritual refere-se tambm a uma dimenso cosmo-
lgica, de valores. Ele um operador simblico de valores e modos comuns de
existncia, ao mesmo tempo em que contm uma teoria da terapia, uma teoria
dos processos de adoecimento e cura.1 Ao mesmo tempo, essa transformao
que descrevo nas curas rituais no se reduz a uma srie de analogias estruturais
que dariam sentido umas s outras ou que induziriam umas s outras, mas tra-
ta-se de uma transformao que envolve um conjunto de prticas, aes e agen-
ciamentos, e, consequentemente, de sujeitos. No apenas porque no decorrer
do processo teraputico o sujeito que emerge, mas porque esse processo en-
volve questes como criatividade, imaginao e ao, questes que uma abor-
dagem performtica da cura ritual tm tambm colocado. (LANGDON, 2007)
Nos trabalhos citados, descrevo detalhadamente diversas prticas rituais
e teraputicas, abordando questes como espao e tempo rituais, gestos, tc-
nicas e procedimentos corporais, linguagem ritual, valores e cdigos compar-
tilhados, relao ritual e teraputica, mecanismos teraputicos e mediadores
simblicos, pensando o ritual de cura como uma forma de relao, e mesmo de
comunicao, em diversos nveis. na discusso especfica sobre a dimenso
narrativa do trabalho ritual e teraputico que busco um dilogo mais efetivo
com a noo de eficcia simblica e com o texto de Lvi-Strauss que traz esse
ttulo. Minha inteno, conforme descrevo, problematizar o aspecto narrati-
vo do mito, e no sua dimenso formal e estrutural, ou sua decodificao gra-
matical. Meu argumento de que a cura no universo das culturas da nova
era encontra-se no caminho do meio, ou na fuso, das duas dinmicas descri-
tas por Lvi-Strauss, entre a cura xamnica e a psicanaltica,2 pois opera com
1 Confira Favret-Saada (2009a, p. 51), para uma teoria do desenfeitiamento.
2 A analogia com a psicanlise provocou diversos comentrios, desdobramentos e crticas ao autor. Me parece
que a escolha da psicanlise se d justamente pela ausncia nesta de um tipo de causalidade mecnica tpica
da biomedicina, por exemplo, aproximando aquela das formas de cura ritual, especificamente do xamanismo.
Sobre a reduo do argumento de Lvi-Strauss ao aspecto verbal do ritual, vou tentar mostrar adiante, em
uma leitura mais detalhada do texto, que outros aspectos tambm tm uma importncia em sua definio da
eficcia.
32
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 32 25/07/2013 09:08:44
eficcia simblica: dilemas tericos e desafios etnogrficos
as duas dimenses narrativas, a do mito coletivo (representado pelos diferen-
tes smbolos e mediadores utilizados no processo de cura: os smbolos astro-
lgicos, as cartas do tarot, os hexagramas do I-Ching, os hinrios do Daime,
as essncias florais), que utilizado como operador simblico para a recons-
truo de uma narrativa pessoal, sendo esta a sua segunda dimenso. Discuto
o processo no linear de transformao narrativa, na passagem e traduo de
uma linguagem a outra, no apenas atravs de analogias estruturais (ncleo
do argumento de Lvi-Strauss), mas atravs de transformaes operadas a par-
tir do prprio momento do trabalho ritual e teraputico, em que um tipo de
esforo intelectual, corporal e afetivo realizado, visando provocar uma de-
terminada experincia. A ideia de experincia no est ausente do argumento
de Lvi-Strauss, apenas no recebeu a devida nfase, como nesta passagem em
que compara a cura xamnica com a psicanaltica:
[...] as duas visam provocar uma experincia; e as duas o fazem reconstituin-
do um mito que o doente deve viver ou reviver. Mas, em um caso, um mito
individual que o doente constri, com a ajuda de elementos tirados de seu
passado; em outro, um mito social que o doente recebe do exterior [...]. (Lvi-
-Strauss, 1990b, p. 220, grifo nosso)
A pergunta que vou buscar formular de forma mais consistente neste artigo
se o dilogo com a noo de eficcia simblica poderia contemplar aspectos
como trabalho, esforo, agncia e, sobretudo, sujeito, que emerge dessa experi-
ncia de reinveno de si e do mundo, como dimenses centrais dos mecanis-
mos e dispositivos que operam numa situao de cura ritual. Para isso, neces-
srio voltar aos textos que inicialmente buscaram definir o conceito e pensar
um pouco a trajetria deste.
O percurso antropolgico da eficcia simblica:
uma leitura contrapelo
Mesmo tendo sido formulada de maneira mais explcita por Lvi-Strauss nos
artigos A eficcia simblica e O feiticeiro e sua magia, a noo de eficcia simb-
lica teve sua carreira em dois campos nos quais a influncia da anlise estru-
tural bem menor do que as anlises interpretativistas e fenomenolgicas: os
33
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 33 25/07/2013 09:08:44
snia weidner maluf
campos da antropologia da sade e da doena e dos estudos antropolgicos
de ritual e religio. Por sua vez, talvez por se tratarem de dois dos textos que
poderamos definir como dos mais fenomenolgicos de Lvi-Strauss,3 eles aca-
baram no tendo a importncia de outros de seus trabalhos na formao de
um pensamento estruturalista na antropologia, sendo mesmo relegados como
textos menores, desacreditados pela prpria insuficincia e eventual equvoco
dos dados etnogrficos com que o autor trabalha.4
Apesar de sua pouca repercusso no campo da anlise estrutural, a efic-
cia simblica fez um trajeto que se inicia bem antes dos dois artigos de L-
vi-Strauss e se prolonga para depois destes, tendo algumas de suas razes na
chamada Escola Sociolgica Francesa, principalmente nos trabalhos de Marcel
Mauss e tendo seus desdobramentos contemporneos nos estudos de ritual
e cura. Antes de fazer a leitura do trabalho de Lvi-Strauss sobre o tema, seria
interessante recuperar como o conceito de eficcia aparece dos trabalhos da
Escola Francesa.
De Mauss a Lvi-Strauss
Duas questes que envolvem inicialmente a discusso da eficcia simblica
a dos chamados atos mgicos e a dos efeitos do rito. Durkheim discute os con-
ceitos de eficcia e de eficcia fsica no livro III de As formas elementares da vida
religiosa, quando descreve o ritual.
particularmente em Esboo de uma teoria geral da magia que Mauss e Hu-
bert desenvolvem de forma mais explcita o conceito de eficcia, no caso efic-
cia mgica ou ritual, buscando discutir o que denominam de explicaes ide-
olgicas da eficcia dos ritos. Para os autores, essa explicao estaria em um
resduo que as explicaes dadas magia a partir de suas diferentes manifesta-
3 Essa questo ser desenvolvida mais adiante, em torno do que se evidencia nos dois textos em questes como
os aspectos prticos e vivenciais da eficcia simblica, que funcionam em situaes cujo princpio de cura o
de provocar uma experincia.
4 Mais recentemente, foram trazidos tona dados sobre a lngua na qual a reza do xam Cuna feita, no sendo
esta uma linguagem conhecida pela parturiente, mas uma lngua secreta ou arcaica, no caso de A eficcia
simblica. No caso de O feiticeiro e sua magia, textos etnogrficos mais recentes, informam que Quesalid, ao
contrrio de ser o xam tpico, era algum com um status especial, sendo mestio com branco, tendo sido es-
colarizado e letrado no conhecimento ocidental moderno, sendo esse o contexto de sua descrena nos efeitos
do xamanismo, e no a expresso de uma dvida comum a qualquer xam, tal como argumenta Lvi-Strauss.
34
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 34 25/07/2013 09:08:44
eficcia simblica: dilemas tericos e desafios etnogrficos
es (as frmulas simpticas, a propriedade mgica das coisas e dos elementos
da magia e a teoria dos demnios, ou seja, a crena em espritos) no do con-
ta.5 Essas explicaes, alis, devem muito mais lgica cientfico-racionalista,
e ao que Mauss denomina de nosso entendimento adulto europeu.(MAUSS;
HUBERT, 1997, p. 100) Minha leitura do Esboos... um tanto transversal aqui,
na medida em que, menos do que a magia em si e as definies que os autores
buscam construir no texto, me interessa entender de que maneira sua eficcia
discutida. justamente sobre aquele resduo no explicado pelas diferentes
classificaes da magia que os autores buscam construir, em uma das partes
do Esboo..., uma teoria sobre a crena na eficcia dos ritos mgicos a partir da
ideia compsita de fora e de meio, noes que escapariam do racionalismo
individualista ocidental e seriam perfeitamente apreensveis por uma concep-
o no intelectualista e coletivista, conforme os autores. Coletividade parece
ter aqui um significado ligeiramente distinto daquele de substncia ou enti-
dade acima ou fora da experincia e das singularidades, tal como uma ortodoxia
durkheimniana poderia supor. Essa fora ou potencialidade mgica a causa
mesmo dos efeitos mgicos: doena e morte, felicidade e sade. (MAUSS; HU-
BERT, 1997, p. 100) comparvel fora mecnica, na sua relao de causa e
efeito, mas separa-se desta na medida em que o meio em que atua, e com o
qual faz um, outro, permitindo, entre outras coisas, o contato na distncia.
Para melhor descrever e definir esse compsito eles usam o conceito nativo de
mana palavra comum s lnguas melansias, designando, alm de fora, ao,
qualidade e estado. Mas designa, sobretudo, algo que confunde e rene os vrios
5 Eventualmente o texto acaba servindo para reificar a distino que perdura em certas anlises no campo das
cincias sociais, entre magia e religio, mesmo essa sendo apenas uma das partes do longo artigo de Mauss e
Hubert, cuja inteno era muito mais a de constituir os fenmenos descritos como objeto das cincias sociais
e definir uma especificidade para a prtica da magia para alm dos outros grandes campos j instituidos da
anlise social, como a religio. A distino entre magia e religio, cujo fundamento tem razes mais teolgicas
do que sociolgicas, perdura tanto nas anlises scio-antropolgicas quanto nos discursos internos s pr-
prias organizaes religiosas, que buscam construir diferenas e distines em suas fronteiras fludas com
outras crenas e prticas. Um exemplo desse uso distintivo da diferena no universo religioso brasileiro so
os ataques das igrejas neopentecostais s religies afrobrasileiras, tachando-as como magia, feitiaria, e no
religio. Ou a recusa da Igreja Catlica em aceitar certas prticas populares de cura, como as benzeduras e
curas rituais, como sendo de ordem externa religio, como crendices e no crenas. No por acaso que a
noo de eficcia simblica acabou sendo prioritariamente utilizada para descrever e explicar prticas rituais
e de cura exteriores modernidade ocidental ou s formas teraputicas da biomedicina. O que de certa forma
reproduz a velha diviso entre magia, cincia e religio. No obstante, alguns autores buscaram estender o
conceito para as religies insitudas e hegemnicas na modernidade ocidental, como o caso do estudo de
Franois Isambert sobre os ritos cristos e sobre a liturgia dos sacramentos. (ISAMBERT, 1979)
35
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 35 25/07/2013 09:08:44
snia weidner maluf
elementos que, na lgica ocidental, permaneceriam separados, como o agente,
o rito e as coisas e objetos. Essa uma questo importante de reter por enquanto,
levando em conta duas coisas: primeiro, que os textos centrais da Escola Soci-
olgica Francesa consideram que a anlise sociolgica e antropolgica deve se
debruar sobre aquilo que define o mundo social, ou seja, suas formas de clas-
sificao, diferenciao e separao; segundo, que a crtica mais importante de
Lvi-Strauss a Mauss, esboada na clebre Introduo obra de Marcel Mauss,
sobre a utilizao de uma noo como mana como categoria de explicao
antropolgica, o que seria, em resumo, um deslize irracionalista de Mauss, ao
buscar as origens do mana numa ordem de realidade que no as relaes que
ela ajuda a construir, jogando a anlise para o que seriam epifenmenos ou
mistrios, em todo caso, objetos extrnsecos ao campo de investigao. (LVI-
STRAUSS, 1989, p. 45)
Na tentativa de pensar os atos mgicos e a magia em sua especificidade,
como um sistema possuindo uma unidade, a ideia de eficcia ritual ou simb-
lica emerge como forma dessa especificidade dentro de um inventrio enorme
de princpio, tcnicas, procedimentos, representaes, efeitos, do que seriam
esses atos. A especificidade da magia, do ato mgico, da cura ritual, do ataque
ritual ou simblico, seria o de funcionar num campo de eficcia simblica.
interessante reter os qualificativos utilizados pelos autores para defini-
rem o mana: alm de preencher um resduo, trata-se de uma noo obscura e
vaga, mesmo tendo um emprego determinado, abstrata e geral e, ao mesmo
tempo, plena de concreto. (LVI-STRAUSS, 1989, p. 102) Fundamentalmente,
mana o que d valor a coisas, fatos, aes, agentes etc. Ele a fora das coisas
(do feiticeiro, do rito, dos objetos): o mana a fora por excelncia, a eficcia
verdadeira das coisas, que corrobora sua ao mecnica sem a aniquilar (1989,
p. 104) (assim, o mana que garante que a canoa fique estvel no mar,6 que a
casa permanea slida etc.). No h, assim, contradio entre o mana e a fun-
o ou ao mecnica dos objetos, das coisas. Os autores vo alm: o mana no
pode ser objeto de experincia, porque ele, na verdade, absorve a experincia,
6 Tal como tambm constatei em minha pesquisa sobre narrativas de bruxas na Lagoa da Conceio, Florian-
polis. o benzimento da canoa que permite que esta no naufrague ou no seja objeto de ataques de bruxas
durante a pesca. (MALUF, 1989, 1993)
36
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 36 25/07/2013 09:08:44
eficcia simblica: dilemas tericos e desafios etnogrficos
o que invalida qualquer tentativa de compreender sua ao na lgica cientfica
experimental. Ou, tal como eles explicam, uma das caractersticas da magia
que ela tributria de uma crena a priori, independente da experimentao.7
Finalmente, Mauss conclui essa parte do texto explicando que essa fora no
uma qualidade intrnseca s coisas e s pessoas, mas so atribuies sociais
(LVI-STRAUSS, 1989, p. 114), resultantes dos diferentes e relativos lugares so-
ciais ocupados por essas coisas, pessoas e contextos. dessa diferena que
emergeria o mana, ou qualquer que seja a noo empregada para designar essa
fora potencial.8
O projeto de Mauss e Hubert nesse texto menos o de discutir os mecanis-
mos que operam no ato mgico e em sua eficcia do que em definir sua unida-
de e especificidade, tanto em relao religio quanto em relao tcnica. E
uma lstima que mesmo as leituras contemporneas desse texto se debrucem
mais sobre as questes de definio da magia, suas diferenas com a religio,
seja na sua crtica ou na reproduo anacrnica dessa diferena, do que sobre
a potencialidade dessa tentativa embrionria de tentar discutir a eficcia do
ato mgico a partir de sua lgica intrnseca. Tambm interessante a fronteira
tnue, segundo os autores, entre a magia e as diferentes tcnicas ocidentais,
como a medicina, por exemplo, apesar do acento que colocam sobre a neces-
sidade de distinguir nas prticas de cura o que seriam os atos mgicos (rezas,
evocao de espritos, queima de ervas) dos atos que a cincia ocidental reco-
nheceria como de causalidade mecnica. Ora, os procedimentos teraputicos e
de cura rituais formam um todo indissocivel do ponto de vista nativo, sendo
que a prpria concepo de causalidade mecnica pode mudar conforme as
concepes cientficas ocidentais mudem o que permanece o princpio ex-
perimental, mas essa experincia pode levar justamente ao abandono da ideia
de causalidade mecnica para definir uma prtica que no momento anterior
7 Essa crena a priori ser relativizada no mesmo texto, quando os autores descrevem o mgico ou feiticeiro,
sendo uma de suas caractersticas a simulao e uma certa descrena no que fazem. A simulao do mgico
s possvel com a crena pblica. (MAUSS; HUBERT, 1997, p.89) Posteriormente esse ser o argumento cen-
tral de Lvi-Strauss ao descrever e analisar a trajetria de Quesalid, o xam descrente, mesmo no fazendo
referncia discusso de Mauss e Hubert.
8 Ao discutir o que seriam atributos ontolgicos dos agentes da feitiaria, Favret-Saada (2009a) evidencia a no-
o de fora como um desses atributos, e um dos elementos centrais tambm de uma teoria do desenfeitia-
mento.
37
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 37 25/07/2013 09:08:45
snia weidner maluf
era reconhecida a partir de tal princpio. Vou discutir mais adiante o quanto
a dicotomia mecnico x simblico, que tornou-se fundamental para definir a
eficcia simblica e encontrar nela alguma especificidade, acaba tendo suas
fronteiras esmaecidas quando interrogamos, com Latour (2006), sobre o sen-
tido construdo, fabricado (feito), tanto do smbolo quanto do objeto tcnico.
Nessas poucas pginas em que buscam elaborar uma explicao da magia
e de sua eficcia, questes interessantes so colocadas para um futuro desen-
volvimento. Questes como os aspectos residuais do ato mgico e da comple-
mentaridade entre ao mecnica e ao mgica (a primeira potencializada
pela ltima), a crtica s explicaes racionalistas e extrnsecas magia, a ideia
de potencialidade ou fora mgica (mana), a complementaridade entre si-
mulao e crena, a definio dos atos rituais como essencialmente criadores
e eficazes, que efetuam mudanas e transformaes, so elementos a serem
retomados em uma discusso sobre os limites e potencialidades do conceito
de eficcia simblica. Mauss e Hubert (1997), para descreverem as diferentes
noes culturais que se referem eficcia, falam de uma verdadeira metemp-
sicose de noes ao se referirem ao caso indiano, mas que pode ser generali-
zado a outras noes de uso e de significado semelhantes ao mana. Uma noo
de eficcia pura, ao mesmo tempo material e localizvel que seja espiritual e
que aja distncia.
A dimenso coletiva da eficcia aparece no argumento dos autores como a
dimenso compartilhada da experincia, mesmo que as intenes, os desejos
e os significados dados a essa sejam distintos. tambm, segundo Mauss e
Hubert (1997, p. 119), a constatao do efeito por uma coletividade o que pro-
duz ou reconhece o meio como apto a produzir o efeito, estabelecendo assim
uma sntese entre causa e efeito. Levando adiante o argumento dos autores,
num dilogo com discusses contemporneas, poderamos inferir que o que
opera aqui a ideia da afeco, do deixar-se afetar, um tipo de agenciamento
em geral involuntrio, no porque inconsciente apenas, mas porque corporifi-
cado e afetivo. Mais do que uma crena (experincia intelectual), trata-se aqui
da afeco (experincia corporificada e afetiva). A ideia de fuso entre causa e
efeito faz lembrar uma outra discusso de Bruno Latour (2004), sobre a edu-
cao olfativa dos analistas de perfumes e a relao entre o nariz e o aroma:
se por um lado a diferena entre os aromas de perfumes fabrica um nariz de
38
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 38 25/07/2013 09:08:45
eficcia simblica: dilemas tericos e desafios etnogrficos
especialista, que consegue identificar os diferentes tons e notas olfativas, por
outro, esses diferentes tons e notas olfativas s existem quando cheirados, ou
seja, quando so fabricados por esse nariz especializado: o aroma fabrica o na-
riz, mas o nariz, por sua, vez tambm fabrica os aromas e suas distines. De-
formando um outro exemplo de Latour, tambm distante do tema da sade e
da religio: porque os objetos explodem no laboratrio que se reconhece uma
determinada tcnica como apta a produzir um efeito. Inverte-se a relao cau-
sa e efeito: no a tcnica que produz a exploso dos objetos, mas a exploso
dos objetos (sua agncia, para Latour) que produz a tcnica como tendo algum
efeito. No ato de cura ritual, na fuso entre causa e efeito, os gestos, os objetos,
as substncias, etc, produzem uma afeco corporificada, assim como o corpo
afetado constitui, engendra, esses objetos e gestos de eficcia.
Mauss e Hubert no estavam to distantes ao formular a noo de eficcia
em torno da ideia de fuso entre causa e efeito, apesar de no terem ido adiante.
Durkheim, certamente influenciado pelas reflexes de Mauss, ir discutir a
eficcia do rito em As formas elementares da vida religiosa (1912), distinguindo o
que seria uma eficcia moral do rito (construir ou engendrar o sentimento de
sociedade) e sua eficcia fsica, uma consequncia ou efeito contingente da pri-
meira. A eficcia moral o efeito do rito em criar e recriar esse ser moral que
a sociedade, e do qual dependemos. A eficcia fsica seria um derivado ima-
ginrio ou contingente da eficcia moral, que para ele a eficcia real do rito:
O que em primeiro lugar est implicado na noo de relao causal a ideia
de eficcia, de poder produtor, de fora ativa. Entende-se comumente por
causa o que capaz de produzir uma mudana determinada. A causa a fora
antes que tenha manifestado o poder que est nela; o efeito o mesmo poder,
mas atualizado. (DURKHEIM, 2003, p. 394)
Para Durkheim, a origem dessa fora e desse poder a sociedade. Em
outra ocasio, a discusso de Durkheim sobre a eficcia moral e a fsica me-
receria um tratamento mais detalhado, o que no possvel fazer no escopo
deste artigo.
Nos dois artigos em que discute a eficcia simblica, Lvi-Strauss busca
responder questo da eficcia da magia e da cura xamnica, e de como certos
fenmenos podem se expressar ou ter efeitos sobre o plano fisiolgico. A seguir
39
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 39 25/07/2013 09:08:45
snia weidner maluf
vou trilhar de maneira mais detalhada e demorada esse caminho, no apenas
buscando as linhas centrais do argumento do autor, mas vou percorrer tambm
os pequenos desvios e os meandros de sua reflexo. No caso de O feiticeiro e
sua magia, a pergunta formulada em torno da morte fsica provocada pelo que
se poderia chamar de morte social, ou seja, a dissoluo da personalidade social
do sujeito, assunto j trabalhado anteriormente por Mauss. Nesse texto Lvi-
-Strauss discute diversos exemplos em que questes como manipulao e des-
crena na feitiaria por parte do xam e o posterior convencimento de sua vali-
dade, crena ou desconfiana por parte da audincia so tematizadas. No fundo
de seu argumento, h uma relativizao da ideia de crena, na medida em que
essa retirada do plano do a priori, quando o autor descreve a transformao
do xam que, inicialmente descrente de suas habilidades ao teatralizar de for-
ma consciente essas habilidades, vai ele prprio se tornando efetivamente um
feiticeiro. A anlise do autor de uma dessas situaes, a do adolescente Zuni,
acusado de feitiaria depois que uma menina teve uma crise nervosa quando
este pegou sua mo, revela uma verdadeira pragmtica da linguagem: At que
ponto o jovem no se tornou refm de seu personagem, ou melhor: at que
ponto ele no se tornou efetivamente um feiticeiro. Mais o jovem falava, dizia-
-se de sua confisso final, mais profundamente ele se absorvia em seu tema.
(LVI-STRAUSS, 1989, p. 192) Mesmo que seu argumento central para justificar
a retirada da acusao tenha sido o fato de que, ao desfiar todo um discurso
(inventado) sobre sua maneira de proceder na feitiaria, o acusado teria pro-
piciado comunidade um sistema para traduzir seu sentimento difuso e suas
representaes mal formuladas em torno da feitiaria. De ameaa segurana
fsica de seu grupo, o jovem se torna garantia de sua coerncia mental. (LVI-
-STRAUSS, 1989, p. 191) A dimenso moral (social) de Durkheim se traduz ou se
transubstancia aqui em dimenso mental (simblico-estrutural).
Dos exemplos discutidos pelo autor nesse artigo, o mais conhecido e citado
por seus comentadores o de Quesalid, que conta em sua autobiografia (reco-
lhida por Boas) que, no acreditando no poder dos xams, decidiu fazer o apren-
dizado junto a eles com o objetivo de os desmascarar. Seu aprendizado apenas
confirmou o que ele presumia: ensaios de pantomima e teatralizao, aprendi-
zado das mais diversas tcnicas de manipulao e ilusionismo. Mas antes que
pudesse efetuar sua denncia, Quesalid j havia se tornado conhecido como
40
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 40 25/07/2013 09:08:45
eficcia simblica: dilemas tericos e desafios etnogrficos
aprendiz de xam e foi convocado para fazer uma cura. Apesar de sua descrena,
o tratamento foi um sucesso, o que no modificou sua viso ctica em relao
cura xamnica. Confrontado por outros xams e suas diferentes tcnicas, Que-
salid vai aos poucos nuanando sua descrena inicial em todos os xams: al-
guns seriam autnticos. Sobre sua crena em seu prprio poder xamnico, nada
fica definido, a no ser que ele continua exercendo seu mtier e defendendo sua
tcnica de cura. Em sua anlise, Lvi-Strauss busca compreender o que seria o
complexo xamnico, organizado em torno de dois polos: o consenso coletivo e
a experincia ntima do xam. Mas, alm disso, alguns elementos centrais do
xamanismo discutidos pelo autor acabaram se tornando uma referncia nos
estudos sobre a eficcia simblica, xamanismo e cura: um doente curado por
um xam tem grande potencial de se tornar ele prprio um xam; no porque
Quesalid curava que ele se tornou um grande feiticeiro, mas porque ele era um
grande feiticeiro que ele curava os doentes. O xam oferece um espetculo
ao seu pblico, mas no no sentido da representao teatral meramente, ele
efetivamente revive nesse espetculo os fatos e acontecimentos em sua origi-
nalidade, vivacidade e violncia. A esse ltimo aspecto, Lvi-Strauss nomeia ab-
-reao, noo psicanaltica que significa a revivncia intensa de uma situao
que estaria na origem da perturbao, conceito tambm discutido em A eficcia
simblica para explicar os efeitos provocados pela reza do xam sobre sua pa-
ciente. O ritual provocaria uma experincia.
Buscando destrinchar um pouco mais os mecanismos que operam numa
cura xamnica, o autor discute a relao ente o xam e seu grupo, e entre pen-
samento normal e patolgico, que, numa perspectiva no cientfica, no se
oporiam, mas, ao contrrio, se complementariam. Para o pensamento normal,
h falta, demanda, dficit de significado; para o pensamento patolgico, ex-
cesso . Na cura xamnica operaria uma mediao entre essas duas situaes
complementares, entre a demanda e a oferta, entre o coletivo e o individu-
al (o xam), em que continuamente se elabora e se modifica uma estrutura.
(1990b, p. 200) Lvi-Strauss estabelece aqui uma diferena entre a experimen-
tao cientfica (verificvel e controlvel) a essa experincia vivida de um
universo de efuses simblicas em que pode se vislumbrar as iluminaes.
essa experincia que define a adeso ao xamanismo. explicao cientfi-
ca, que busca causas, contrape-se esta outra experincia, que busca articular
41
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 41 25/07/2013 09:08:45
snia weidner maluf
as coisas em uma totalidade, opondo o doente (passividade, alienao de si)
ao xam (atividade, transbordamento de si). Uma passagem esclarece como o
autor define a cura nesse caso: A cura coloca em relao esse polos opostos,
assegura a passagem de um a outro, e manifesta, em uma experincia total,
a coerncia do universo psquico, ele prprio projeo do universo social.
(Lvi-Strauss, 1990a, p. 201)
Psicanlise, evidentemente, mas tambm a lingustica so evocadas com-
parativamente para explicar esses mecanismos da cura mgica, que teria sua
natureza profunda muito mais no intelecto do que nas manifestaes afetivas
mais uma vez aqui a oposio entre significado e significante (e no entre
causa e efeito, como seria o caso de uma cura no campo biomdico) aparece
como o objeto central a ser resolvido tanto pela funo simblica quanto pelo
pensamento mgico. O sofrimento fundamentalmente o conflito entre dois
sistemas contraditrios, e s pode ser ultrapassado atravs de uma linguagem
que possa traduzi-lo e transform-lo.
No outro artigo, A eficcia simblica, publicado no mesmo ano do anterior,
Lvi-Strauss detm-se em um exemplo e busca descrever detalhadamente
como opera o processo de cura xamnica a partir de seu efeito concreto sobre o
corpo do doente, no caso uma mulher com dificuldades no parto. Nesse artigo
a noo de eficcia mais explicitamente utilizada, mesmo que em alguns mo-
mentos seu sentido fique ainda obscuro, sobretudo quando se refere aos ele-
mentos no verbais do ritual de cura xamnica, como as imagens esculpidas
pelo xam que ganham sua eficcia no tipo de madeira utilizada, ou a fumaa
de cacau, que fortalece e encoraja o xam para o enfrentamento ritual. Lvi-
-Strauss descreve o ritual e analisa o longo canto proferido pelo xam, quando
chamado a tratar uma parturiente que encontra dificuldades no parto. Todo o
procedimento analisado como um ritual de cura xamnica, e definido como
mtodo ou tcnica teraputica. O autor menciona trs tipos de cura xamni-
ca: a extirpao da causa da doena atravs da suco de um objeto do corpo
do doente; a simulao de um combate espiritual; e o enunciado de rezas ou
encantamentos seguidos de alguns procedimentos prescritos ao doente, fre-
quentemente eficazes, mas cujo mtodo teraputico seria, segundo o autor,
de difcil operao. a este ltimo tipo que corresponde o ritual analisado, no
qual h uma longa reza, cujo contedo retoma de forma repetitiva e detalhada
42
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 42 25/07/2013 09:08:45
eficcia simblica: dilemas tericos e desafios etnogrficos
o trajeto da doente, o recurso ao xam e cada uma das foras que representam
ou agem sobre os rgos internos, tero e vagina, e que impedem o parto. Mas,
mais do que representar, para o pensamento indgena, estas so imagens li-
terais, elas so a vagina e o tero. Tal como Mauss havia descrito a eficcia da
magia e o mana, no h separao entre smbolo e objeto. Talvez resida a uma
das dificuldades em se compreender os dispositivos que operam nesse tipo de
cura: se para os protagonistas no se trata de representao, mas da prpria re-
alidade, o corpo mesmo, como interpretar esse processo com os instrumentos
da lgica representacionista?
Lvi-Strauss desenvolve seu argumento comparando a cura xamnica com
a psicanaltica, um outro tipo de cura no cientfica, segundo o autor, e tam-
bm fundamentada na existncia ou na construo de um mito, em um caso,
um mito coletivo, noutro, um mito individual. Mas ele se arrisca a prever um
futuro em que a analogia entre as estruturas e a ao de uma estrutura sobre a
outra (a da narrativa mtica sobre a do corpo ou a fisiologia da parturiente) po-
dero ser explicadas bioquimicamente. Alguns comentaristas de Lvi-Strauss
veem nessa previso uma reduo essencialista ou biologicista do autor, no
entanto possvel interpret-la como uma expanso do uso da noo de estru-
tura para outras esferas da existncia, do mito fisiologia, num momento em
que o projeto da anlise estrutural comeava a se constituir dentro do campo
antropolgico.
Em sua comparao com a psicanlise, Lvi-Strauss usa igualmente o
conceito psicanaltico de ab-reao, que se refere organizao dos eventos
anteriormente caticos na experincia subjetiva do sujeito. Nesse sentido, a
cura xamnica seria o espelho invertido da cura psicanaltica: em uma, uma
mitologia coletiva que ajuda a reconstruir uma experincia, em outra, uma
mitologia (narrativa) individual; em uma, o xam que fala, em outra, o psi-
canalista que escuta. Mas em ambos, importante lembrar, e agora sabemos
que isso vale tambm para a reza Cuna, o texto est em uma outra lngua: a
lngua secreta na cura xamnica, a linguagem do inconsciente (livre associa-
o) na cura psicanaltica.
O xam forneceria, assim, uma lngua que torna pensvel uma situao
dada inicialmente em termos afetivos. No apenas a doente cr no mito, como
este faz parte da concepo indgena de mundo.
43
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 43 25/07/2013 09:08:45
snia weidner maluf
Nesse sentido, concordo com as ponderaes de Richard Rechtman (2000).
De acordo com o autor, as revelaes mais recentes9 de que, na verdade, o can-
to no teria sido enunciado em lngua Cuna, mas em uma lngua arcaica ou
secreta desconhecida pela mulher, no invalidam o argumento central de Lvi-
-Strauss. Essa primeira correo etnogrfica feita em relao ao material em-
prico utilizado por Lvi-Strauss diz respeito lngua em que a reza xamnica
proferida, sendo esta no a lngua Cuna, conforme havia escrito Lvi-Strauss,
mas uma lngua arcaica ou sagrada, desconhecida pela parturiente. O que sig-
nifica que a leitura literal que esta poderia ter feito dos elementos presentes
na reza (muitos deles referindo-se metaforicamente s partes de sua fisiologia
interna, tero, vagina etc), induziu-a a uma reao corporal reza inexiste. Ora,
quando fala do mito, Lvi-Strauss est falando de uma linguagem social que se
utiliza dos smbolos e valores socialmente compartilhados. A cura xamnica
rene diferentes elementos que em sua totalidade formam um sistema. Re-
chtman, por outro lado, reduz seu argumento ideia sinttica de que trata-se
de uma analogia entre estruturas inconscientes no conhecer a lngua no
invalidaria a reflexo de Lvi-Strauss justamente porque todo o processo no
se d no plano do conhecimento consciente. Sem discordar inteiramente do
autor, preciso levar tambm em considerao o que Lvi-Strauss nomeia das
dimenses sociais dessa experincia: o mito e seus personagens fazem parte
da concepo de mundo nativa (LVI-STRAUSS, 1990b , p. 218), e o xam, mes-
mo proferindo uma lngua estranha, no ele prprio estranho a esse mundo
social. Ou seja, se o xam fornece uma linguagem doente, essa linguagem
no se resume ao canto e seu aspecto verbal ou lingustico. Trata-se de uma
linguagem fundamentalmente social e afetiva, no sentido das afeces e expe-
rincias que provocam na doente.
A outra correo etnogrfica feita recentemente em relao ao O feiti-
ceiro e sua magia e ao fato de Quesalid no ser exatemente o xam tpico, tal
como argumenta Lvi-Strauss, mas um mestio, alfabetizado e iniciado na cul-
tura ocidental. Para este, o descrdito e a descrena (expressos por Quesalid)
fazem parte da trajetria de formao de qualquer xam. No entanto, os dados
etnogrficos trazidos tona mais recentemente revelam que ele no qualquer
9 Como as discutidas por Michel Perrin (1995).
44
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 44 25/07/2013 09:08:45
eficcia simblica: dilemas tericos e desafios etnogrficos
xam, mas um mestio, meio indgena meio branco, escolarizado e iniciado na
cultura ocidental.10 Lvi-Strauss no menciona, mas como foi exposto acima,
Mauss, ao discutir sobre as figuras do mgico e do feiticeiro, descreve a des-
crena deles e a simulao (consciente ou inconsciente) como a contrapartida
da crena pblica. Independente de quem o verdadeiro Quesalid, outros
relatos etnogrficos, entre eles aqueles explorados e discutidos por Mauss, por
exemplo, de certa forma reforam a ideia desse ceticismo do xam ou do feiti-
ceiro sobre a eficcia de sua prtica. Ou seja, a revelao da posio social am-
bgua de Quesalid no invalida em si o argumento que tem como um de seus
mritos colocar em cheque a noo de que para haver eficcia preciso haver
crena, conceito que, se faz sentido num discurso teolgico, encontra dificul-
dades para alcanar uma definio mais clara nas cincias sociais. Rechtman
(2000, p. 515) sintetiza a crtica de Lvi-Strauss noo de crena: No basta
crer para que funcione, no basta no crer para que no funcione.
No caso de outras situaes etnogrficas em que a crena aparece como
um conceito nativo, necessrio perguntar o que eles querem dizer quando
dizem crena ou f talvez o significado no seja exatamente o mesmo da
noo letrada que considera como crena o compartilhamento intelectual de
um conjunto de valores, doutrina, cosmologia etc.11 Talvez eles estejam se re-
ferindo realizao de um certo tipo de ao, a crena sendo a adeso prtica
(independente do que possa estar ocorrendo internamente) aos procedimen-
tos rituais apropriados. possvel que f designe muito mais uma adeso ao
gesto do que a uma experincia interior do sujeito. A f catlica em muitas
situaes depositada sobre esse gesto: fazer o sinal da cruz ao entrar na Igreja,
ou no faz-lo, como um gesto de falta de f. Aqui crena tem um significado
bem distante de seu sentido teolgico.
10 Segundo Rechtman (2000), David Brumble, em seu trabalho sobre as autobiografias dos ndios da Amrica,
que traz o dado de que Quesalid no um ndio tpico, mas filho de uma me indgena e um pai escocs, letrado,
e informante privilegiado de Boas. O prprio Lvi-Strauss teria essa informao, pois faz uma homenagem
a Quesalid (atravs de seu nome branco) e a seu trabalho, quando comenta os trabalhos do Escritrio de
Etnologia Americana e seu estmulo para que os ndios se tornassem seus prprios linguistas, fillogos e
historiadores (RECHTMAN, 2000). Mas isso no ano de 1965, ou seja, quase 15 anos aps a publicao de O
feiticeiro e sua magia.
11 Sobre a inveno da crena (e da idolatria e da religio) nos outros, ver Bernad e Grudzinski (1988) e Latour
(2009, p.19): A crena no um estado mental, mas um efeito das relaes entre os povos, o sabemos desde
Montaigne.
45
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 45 25/07/2013 09:08:45
snia weidner maluf
Alm da crena, a outra tentao qual Lvi-Strauss escapa, mesmo dia-
logando diretamente com a psicanlise e comparando o xamanismo a esta,
a do reducionismo psicologista, ou seja, a de reduzir a eficcia ideia de su-
gesto, noo cara s explicaes racionalistas da eficcia, lado a lado com a
do efeito placebo de certas prticas de cura. A capacidade indutora, qual
o autor se refere ao definir a eficcia simblica, a capacidade de induzir uma
transformao, ou uma reorganizao estrutural, neste caso, no plano orgni-
co, atravs da vivncia intensa do mito.
H ainda a segunda parte da cura, em geral pouco mencionada pelos co-
mentadores do texto, em que o xam parte com os moradores da comunidade
para coletar plantas medicinais, que sero por sua vez introduzidas na vagina
da doente (e parece no ficar claro se isso ocorre realmente ou parte do can-
to). Mas, para o autor, poderia se pensar em duas tticas complementares: uma,
atravs de uma mitologia psico-fisiolgica, e outra por uma mitologia psi-
cossocial, esta ltima aparecendo ainda de forma esboada no relato analisado.
Fundamentalmente, a eficcia simblica definida e descrita por Lvi-
-Strauss a partir da ideia da produo de uma experincia especfica. Um de-
terminado procedimento, mtodo ou tcnica de cura so eficazes no momento
em que produzem essa experincia. Atravs do canto, o xam manipula o r-
go doente, fazendo com que gradativamente se esvanea a distino entre o
mito e a fisiologia. Atravs do canto, a doente revive de modo intenso e preci-
so uma situao inicial. (LVI-STRAUSS, 1990b, p. 213)
No entanto, como foi dito, no nem atravs do conceito teolgico de cren-
a, de um lado, nem pelo conceito psicolgico de sugesto, que Lvi-Strauss
explica esse processo.
atravs da analogia entre diferentes planos ou nveis estruturais que a
cura opera: a estrutura do canto Cuna enunciado pelo xam provoca um reor-
denamento estrutural da situao vivida pela parturiente, o que ter consequ-
ncias sobre seu corpo (recolocando as partes em seu lugar e restabelecendo a
relao necessria para que o parto acontea). Mais do que analogia, de um
processo de transformao que se trata. Mas o que garante essa analogia e, con-
sequentemente, essa transformao, que mecanismos possibilitam essa trans-
posio dos e entre os planos estruturais? Para o autor, a eficcia simblica
que garante a harmonia do paralelismo entre mito e operaes (LVI-STRAUSS,
46
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 46 25/07/2013 09:08:45
eficcia simblica: dilemas tericos e desafios etnogrficos
1990b, p. 222), ou seja, a eficcia simblica no somente a transposio entre
os diferentes planos estruturais, mas ela a prpria possibilidade de que isso
ocorra. Estamos ento alm da representao? O que nos jogaria novamente
naquela zona que Mauss denominou de aspectos residuais da magia e sua efi-
ccia. Mas de quais operaes se tratam? No caso do xamanismo, o xam que
fornece o mito e a doente quem efetua as operaes no plano orgnico e fisio-
lgico (uma dimenso no explcita de agenciamento aparece aqui, questo
que vou retomar mais adiante). No caso da psicanlise, Lvi-Strauss descreve
um exemplo no exatamente psicanaltico no sentido convencional, mas cuja
protagonista se reivindica da psicanlise para definir seu mtodo. Trata-se do
tratamento de um caso de esquizofrenia, em que a terapeuta decide ultrapassar
a linguagem simblica e atingir o complexo da doente atravs de atos no
sua reproduo fiel e literalmente correspondente, mas em golpes de atos
discontnuos, cada um simbolizando um elemento fundamental da situao
(LVI-STRAUSS, 1990b, p. 221) Assim, a face da doente colocada em contato
com o seio da psicanalista. a carga simblica do ato que o torna uma lingua-
gem atravs da qual a psicanalista dialoga com seu sujeito, no pela palavra,
mas por operaes concretas. Os gestos da psicanalista, nesse exemplo, cor-
respondem s representaes evocadas pelo xam. Num caso, os gestos levam
a uma reconstruo do mito da paciente esquizofrnica; em outro, o mito leva
s operaes (gestos) de ordem fisiolgica efetuadas pela doente. Aqui, Lvi-
-Strauss (1990b, p. 221) considera necessrio alargar a noo de manipulao,
pois sendo esta tanto uma manipulao de ideias quanto de rgos, a condio
comum que ela se faa por meio de smbolos os equivalentes significativos
do significante, mas de uma outra ordem de realidade: gestos que afetam o es-
prito da paciente com esquizofrenia; representaes que modificam as funes
orgnicas da parturiente.
A eficcia simblica consistiria precisamente nessa propriedade indutora
que possuiriam, umas em relao s outras, estruturas formalmente hom-
logas que se edificam com materiais diferentes, nas diferentes etapas do vi-
vente: processos orgnicos, psiquismo, inconsciente, pensamento reflexivo.
A metfora potica fornece um exemplo familiar desse procedimento indu-
tor [...]. Ns constatamos assim o valor da intuio de Rimbaud dizendo que
ela pode tambm servir para mudar o mundo. (Lvi-Strauss, 1990b, p. 223)
47
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 47 25/07/2013 09:08:45
snia weidner maluf
A centralidade da dimenso simblica para Lvi-Strauss vai alm da cura,
mas est na prpria causa do adoecimento. Ele questiona a importncia que
poderia ser dada ao carter real ou no das situaes rememoradas pelo pa-
ciente da cura psicanlitica. Para ele, o valor teraputico da cura est menos no
sentido real das situaes rememoradas, sendo que o poder traumatizante des-
sas situaes est menos em seu carter intrnseco, do que no fato de que, no
momento em que essas situaes se apresentam, o sujeito as experimenta sob
a forma de um mito vivido e capacidade de certos acontecimentos de, num
contexto psicolgico, histrico e social apropriado, induzirem uma cristaliza-
o afetiva que se faz no molde de uma estrutura preexistente. (LVI-STRAUSS,
1990b, p. 224)
Na parte final do texto, em que sintetiza sua reflexo, o argumento mais
puramente estruturalista mais evidente. Ou seja, questes como contexto
social, histrico e psicolgico, afeces, experincia, assim como aquilo que
podemos definir como os vrios agenciamentos descritos pelo autor, que apa-
recem de forma no to tangencial no decorrer do texto, so sintetizadas a par-
tir da noo do insconsciente e sua estrutura. Todos esses outros elementos
s passam a fazer sentido capturados ou reduzidos a essas estruturas incons-
cientes. Alguns princpios gerais da anlise estrutural esto presentes na des-
crio e na anlise do autor, a primeira delas sendo a centralidade do smbolo
para a discusso sobre estrutura, por um lado, e a centralidade da estrutura na
compreenso do smbolo. A segunda a universalidade da estrutura, sobre di-
versas e diferentes dimenses da existncia. Mesmo que a estrutura no esteja
nas coisas, mas nos modos de entend-las e represent-las, as coisas podem
ser reorganizadas e transformadas pela estrutura.
Ao mesmo tempo, no negligencivel a importncia que dada a esses
outros elementos conformados pela estrutura, como a experincia, os viven-
tes e suas operaes, as imagens, o vocabulrio etc. O que pode ser percebido
tambm nas passagens iniciais de A Eficcia..., em que o autor descreve os ele-
mentos no verbais do ritual, como as imagens esculpidas, a fumaa de cacau
e a eficcia destas. Esses aspectos sero retomados mais adiante como impor-
tantes para se repensar a noo de eficcia.
48
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 48 25/07/2013 09:08:45
eficcia simblica: dilemas tericos e desafios etnogrficos
A carreira fenomenolgica da eficcia:
pragmtica da linguagem e teorias da performance
Para alm da leitura do simblico (e seu poder), a partir da ideia de representa-
o social, a eficcia simblica fez uma carreira, de um lado, para alm do xa-
manismo (apesar de ter seguido um caminho neste tambm, alm dos textos
de Lvi-Strauss) e, de outro, para alm do estruturalismo e da Escola Francesa
e suas representaes coletivas. Os estudos de ritual e de eficcia ritual repre-
sentam uma vertente enorme de trabalhos etnogrficos e discusses sobre a
dimenso simblica da relao entre ao e seus efeitos na cura e na fabricao
de pessoas e transformao de sujeitos e de identidades sociais, passagem de
status etc.12
A inspirao para uma leitura fenomenolgica e de uma pragmtica da
linguagem se d tanto pela identidade temtica com os dois textos de L-
vi-Strauss, xamanismo e cura, quanto pelas brechas que sua reflexo abre
em torno de noes como experincia, sentimentos, transformao, fora
indutora. Um dos desdobramentos mais interessantes dessa discusso o
enfoque performtico do ritual e a relao entre cura, ritual e performance.
Para Jean Langdon, a eficcia teraputica deve ser atribuda sobretudo aos
aspectos performativos do ritual (2007, p. 5). A autora traa a trajetria das
diversas abordagens da magia, do xamanismo e da cura ritual na antropolo-
gia, enfatizando o quanto em muitas dessas abordagens os dois ltimos so
reduzidos a uma certa concepo de magia conceito em geral utilizado de
forma redutora, em oposio noo de religio, e apreendido a partir de um
vis em geral evolucionista, presente, por exemplo, na previso de que esse
tipo de prtica desapareceria diante da expanso da modernidade. (LANG-
DON, 2007, p. 9) A partir do que considera os limites da abordagem estrutu-
ral do ritual, e na perspectiva de uma antropologia da performance, a autora
considera que a eficcia do ritual estaria no nos seus aspectos lgicos ou
semnticos (aqui a crtica dirige-se no somente a Lvi-Strauss, mas tambm
12 No h espao neste artigo para passar de forma mais detida por essa rica discusso sobre ritual e eficcia.
Confira Gennep (1978) e Turner (2005, 2009), que em sua discusso sobre ritual e drama social vo alm
das analogias estruturais de Lvi-Strauss, para as afetaes mtuas entre dramas sociais, dramas estticos,
narrativos etc.
49
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 49 25/07/2013 09:08:45
snia weidner maluf
a Turner), mas na sua dimenso de experincia corporificada (em dilogo
com Thomas Csordas), especificada em torno de quatro princpios gerais:
intensificao da experincia; sentido multisensorial e, ao mesmo tempo,
unificado desta; expectativa coletiva na participao (e de como dessa par-
ticipao coletiva emergem experincia e sentido); engajamento corporal,
emocional e sensorial (centralidade da noo de embodiment).13 O conceito de
performance reintroduz questes como ao, criatividade, expresso potica,
que nas formulaes iniciais do conceito de eficcia simblica apareciam de
forma tangencial e secundria, colocando-os no centro da reflexo. O ritual
deixa de ser definido pelas regras e pelo seu ordenamento formal, mas como
um evento pleno de ao, em que imaginao e criatividade, alm de expres-
so potica, emergem como aspectos centrais. Sem abandonar o conceito de
eficcia simblica em sua totalidade, mas colocando-se em uma posio de
crtica aos princpios de sua formulao, analogia com a psicanlise e ao
peso dado aos aspectos verbais e estruturais do ritual, a perspectiva da per-
formance pensa o ritual como evento performtico que dramatiza e produz
nos sujeitos uma experincia corporificada e afetiva. O quanto estamos lon-
ge de um dos argumentos de Lvi-Strauss, apesar de seu prprio argumento
estruturalista, o da produo de uma experincia determinada, uma per-
gunta para futuros debates.
Dos desafios etnogrficos aos desafios tericos
da eficcia simblica
Sinteticamente, pode-se definir duas vertentes de leitura e apropriao des-
ses trabalhos de Lvi-Strauss. Uma vertente que, fazendo uma leitura de re-
duo dos textos s suas linhas centrais, define a eficcia como uma rela-
o puramente estrutural de analogia entre estruturas homlogas, ou entre
significantes fundamentalmente uma relao metafrica e, sobretudo, in-
consciente. E outra leitura que buscaria potencializar a dimenso descritiva
e etnogrfica da eficcia simblica como o mecanismo por excelncia que
opera em situaes de cura ritual ou de trabalhos teraputicos no formula-
13 Ver Langdon, 2007.
50
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 50 25/07/2013 09:08:45
eficcia simblica: dilemas tericos e desafios etnogrficos
dos em termos de uma lgica de causalidade mecnica ou orgnica. Na pri-
meira, o principal desafio de ordem etnogrfica, ou seja, o reducionismo
atravs do qual opera a anlise estrutural, em busca de regras, leis e siste-
mas, acaba, de um lado, esbarrando nos diferentes materiais etnogrficos de
pesquisas sobre cura e ritual, e, de outro, esbarra na prpria complexidade e
nos meandros da reflexo de Lvi-Strauss, mas tambm de Mauss, que uma
leitura contrapelo, como procurei fazer, no sentido de buscar as partes
menores de seus argumentos, revela. Na segunda vertente, o desafio o
de romper com uma naturalizao do conceito de eficcia, associada a um
empirismo, que confundiria eficcia simblica e eficcia emprica (Recht-
man, 2000, p. 514), que se abstm de formular de maneira mais consistente
o conceito de eficcia simblica e mesmo de tentar esmiuar seus modos de
operar. Em ambas, aquele resduo no explicado do qual falava Mauss insiste
em permanecer.
A partir da crtica dicotomia entre representao e experincia que se ex-
pressa em diferentes perspectivas analticas, desenvolvo abaixo alguns outros
aspectos dessa discusso.
Eficcia como transformao
A eficcia simblica trata, sobretudo, de uma transformao (seja na situao de
cura mais especificamente, seja na situao ritual de modo geral).14 Um dos limi-
tes da leitura estritamente estruturalista da eficcia simblica justamente o de
explicar essa transformao ou de fornecer os instrumentos para compreend-la.
Lvi-Strauss admite que se desconhecem as leis que fazem passar de um
sistema a outro, de um sistema simblico a um anatmico, por exemplo. Ele
descreve a transformao como analogia entre transformaes de sistemas
homlogos, e no do smbolo agindo sobre a coisa: o canto sobre o tero da
14 Para Julia Kristeva, a gnese do conceito de estrutura est ligada ao entendimento das transformaes em
uma totalidade, questo que est presente do matemtico Galois a Freud. Este ltimo definira o aparelho
psquico como uma totalidade submetida a leis de transformao. (KRISTEVA, 2000, p. 471) No h espao
para aprofundar essa discusso aqui, at porque o objetivo justamente o de pensar que, sendo o foco do
argumento de Lvi-Strauss pensar a analogia e a fora indutora da estrutura, e sua capacidade reorganizadora
e transformadora, o autor reconhece a dificuldade em entender como opera esse processo. Dificuldade que,
do meu ponto de vista, est colocada no prprio pressuposto do autor de pensar a transformao a partir do
espao circunscrito da anlise estrutural.
51
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 51 25/07/2013 09:08:45
snia weidner maluf
mulher. Os smbolos e as tcnicas so contingentes, o que importa como fa-
zem sistema. (Rechtman, 2000) Como na relao totmica, o que se tem so
sistemas homlogos, que jamais se misturam. Ele admite, no entanto, que se
desconhecem as leis dessa transformao.
Essa no uma dificuldade especfica da discusso sobre a eficcia simb-
lica e cura ritual, mas um dos limites da reduo estruturalista e do prprio
modelo da relao totmica que acaba vigorando em toda anlise estritamente
estrutural, em que diferentes sistemas s podem ser aproximados a partir de
analogias ou homologias. Alm disso, a ideia de lei tomada de forma mecnica,
e como o elemento ao qual qualquer situao se reduz, descarta toda possibili-
dade de agenciamento, individual ou coletivo.
A noo de regra no estruturalismo pode ser feita a partir do exemplo de
Saussure do jogo de xadrez para discutir o conceito de estrutura e da relao
entre regra, peas e sistema: nesse jogo, o que conta so as regras de movimen-
to e de posio de cada uma das peas, e no cada uma em si. Mas, podemos
objetar que, se para se jogar, preciso as regras, elas em si no so o jogo, o jogo
de xadrez o movimento das peas. Do mesmo modo, estendendo o argumen-
to para a questo mais geral discutida por Saussure, se a fala a reproduo
inconsciente das leis da linguagem, da lngua, a lngua s ganha existncia
social na fala, ou seja, no evento que a reproduz e a modifica. Retornando ao
argumento de Lvi-Strauss, se o que define a eficcia simblica a forma como
os diferentes elementos (sujeitos, tcnicas, mito) fazem sistema de forma
coerente, ao ponto de permitir as correspondncias e analogias, so as opera-
es concretas, as prticas, agenciamentos e relaes engendradas entre e por
esses sujeitos que constituem o ato mesmo que pode produzir alguma eficcia.
O jogo no um conjunto de regras, mas o movimento das peas e as relaes
entre elas.
Lvi-Strauss escreve esses dois textos em um momento de afirmao do
projeto estruturalista, o que poderia explicar alguns dos reducionismos biolo-
gicistas do autor, sobretudo nas suas concluses . Essa mesma viso positiva
da eficcia vai aparecer tambm na crtica que o autor faz psicanlise, em O
feiticeiro e sua magia, por sua renncia demarche cientfica. No entanto, ques-
tes como experincia, operaes, tcnicas e aes, o efeito das imagens, dos
objetos e de outros elementos no verbais no ritual, a ideia de mito vivido e de
52
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 52 25/07/2013 09:08:45
eficcia simblica: dilemas tericos e desafios etnogrficos
fuso entre smbolo e objeto so elementos no negligenciveis de seu argu-
mento e que vo bem alm de um relicrio interpretativista.15
Ento de que transformao se trata, quem efetua essa transformao,
quem efetua os agenciamentos que levam transformao? Se, como foi co-
locado acima, a noo de estrutura, em sua gnese, trata de uma transforma-
o, a eficcia simblica trata de uma transformao nos sujeitos e em suas
relaes. Nesse sentido, minha leitura de Lvi-Strauss, mais do que acentuar
a bvia teoria das analogias estruturais (relao metafrica), prefere extrair do
argumento do autor os aspectos em que questes como ao e agenciamento,
sujeito, inveno de si e do mundo, contexto e contingncia emergem nas fres-
tas de seu argumento. Repensar a noo de fora indutora no no sentido da
relao de causa e efeito (tambm descartada pelo autor), mas no sentido de
uma afetao sobre, o que por sua vez descarta o princpio de que s uma abor-
dagem estruturalista stricto sensu pode desvendar o sentido e os mecanismos
da eficcia simblica.16
Assim, se de um lado o mito aparece como a dimenso simblica, opera-
dor central para interpretar o real da doena (Tardits, 2008), o que poderia
implicar em uma reduo de toda a dimenso ritual, de sua prxis e vivncia,
dimenso simblica do mito, de outro, o mito vivido: atravs da abolio, na
doente, da distino entre os temas mticos e os fisiolgicos (LVI-STRAUSS,
1990b, p. 213), ou seja, os elementos do mito no so representao, eles so o
corpo mesmo da parturiente; atravs da ideia de que o xam efetivamente ma-
nipula o rgo doente; atravs da experincia provocada pelo ritual. Mas essa
anatomia mtica corresponde menos estrutura real dos rgos genitais que
a uma espcie de geografia afetiva. (1990b, p. 215)
Em minha anlise sobre os mecanismos que operam num processo de cura
ritual no universo da nova era, estendo esse operador a outros elementos do ritu-
al: objetos, cartas etc. O que significa que estou lendo o mito como um elemento
15 E xpresso utilizada por Rechtman (2000, p. 529) quando se refere s oscilaes e hesitaes tericas de Lvi-
Strauss nesses dois textos. Talvez sejam essas hesitaes que tenham feito essa dupla fortuna dos artigos:
entre os estruturalistas, com textos menores e ainda iniciais do que viria a ser a grande teoria do autor, entre
os no estruturalistas e adeptos de uma escola fenomenolgica ou interpretativista, a descoberta de um
conceito-chave para a anlise de materiais etnogrficos que conceitos tradicionais, como crena, mentalidade
e magia, no conseguiam explicar.
16 Tese defendida por Rechtman (2000).
53
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 53 25/07/2013 09:08:45
snia weidner maluf
do ritual, mas, por outro lado, que estou tambm tomando diferentes elemen-
tos do ritual em sua dimenso mtica. Esses operadores rituais so trabalhados
tambm como mediadores, ou seja, eles estabelecem relaes entre diferentes
planos, inicialmente so operadores da prpria relao teraputica ou ritual,
mas tambm so mediadores entre os mitos coletivos e as narrativas pessoais,
entre uma experincia coletiva e pblica, e uma afeco individual e privada etc.
Os agenciamentos eficazesou: quem mexe os pauzinhos?
A eficcia simblica traduz vrias maneiras de designar prticas e situaes ca-
pazes de produzir resultados que no se reduzem a uma explicao mecnica de
causa e efeito. Atos mgicos, prticas rituais, cura ritual, prticas teraputicas
no cientficas, xamanismo, feitiaria, desembruxamento, terapias alternativas
ou no convencionais... e seus efeitos. A noo de eficcia introduz uma dimen-
so pragmtica ao fenmeno, um ato eficaz um ato que funciona, seja qual
for seu resultado. O que significa dizer seja qual for seu resultado? Significa
que trata-se de um efeito que no pode ser verificado atravs da lgica cientfica
da causa e do efeito ou do mtodo experimental. A eficcia, nesse caso, estaria
muito mais ligada produo de um sentido compartilhado no interior de um
contexto cultural e social especfico, ou, ainda mais especificamente, tal como
descreveu Lvi-Strauss, produo de uma experincia especfica. Nesse sen-
tido, poderamos dizer que trata-se de um tipo de agenciamento que pode pro-
duzir efeitos orgnicos eou mecnicos, mas cuja lgica interna, cujo modo de
operar no se fundamenta na relao de causa e efeito e de causalidade mecni-
ca. Isso no significa que muitas vezes no se tente explicar a eficcia de certos
procedimentos rituais ou de cura a partir da lgica mecnica ou cientfica. Um
exemplo o de alguns centros espritas no Brasil que produzem provas ou evi-
dncias (cientficas) das curas realizadas, atravs da exposio de exames m-
dicos tirados antes e depois de uma cura ou cirurgia espiritual. Mas dentro do
universo esprita brasileiro temos tambm exemplos inversos. Em seu trabalho
sobre o Centro de Apoio ao Paciente com Cncer (CAPC), hospital de linha esp-
rita em Florianpolis, Waleska Aureliano descreve como para esse centro esp-
rita a cura fsica (o desaparecimento de um tumor, por exemplo) no significa o
fim da doena, ou seja, o exame provaria apenas uma parte do processo de cura,
54
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 54 25/07/2013 09:08:45
eficcia simblica: dilemas tericos e desafios etnogrficos
mas no a sua integralidade, a cura espiritual, esta no podendo ser compro-
vada por evidncias cientficas, como radiografias ou ressonncias magnticas.
Mas quem ou o qu age? A reza, o tabaco, a dana, o esprito, a carta do tarot,
o xam ou o terapeuta? Todos eles artefatos (incluindo a figura do xam ou
do terapeuta, tambm fabricado socialmente, como j discutiu Lvi-Strauss)
criados para produzir algum efeito quando utilizados em certas condies e
em determinado contexto. Em sua discusso sobre os fetiches (e sua inven-
o) e sobre a relao entre eficcia e instaurao, Bruno Latour (2006, 2009)
introduz uma questo interessante para nossa reflexo: a do fazer fazer. Colo-
cando em questo o conceito de eficcia, em seu sentido religioso-teraputico,
mas tambm esttico (os sacramentos, a hipnose como tcnica teraputica, a
psicoterapia, mas tambm as marionetes ou os atores que encarnam persona-
gens, a estaturia), ele retoma a trajetria do fetiche17 como algo que, antes
de poder fazer, feito. A eficcia estaria justamente nesse desdobramento, de
um lado, do ato de fazer e fabricar (o fetiche), e, de outro, no poder autnomo
deste. (LATOUR, 2006, p. 49) Seria preciso, assim, dar um passo atrs, fazer um
movimento de recuo, para aqum da eficcia, e pensar a produo ou fabrica-
o daquilo cujo ato ser eficaz.18 Aqui, o objeto produzido ao mesmo tempo
aquilo sobre o qual se age (em sua fabricao) e aquilo que age (2006, p. 49),
abolindo assim a diferena to cara tcnica: a diferena entre o que age (o
arteso, o engenheiro) do que agido (o objeto, a mquina, o programa),
relao definida como ao eficaz sobre a matria, o que traria, a princpio,
uma outra concepo de eficcia, mas que logo ser desestabilizada, se pen-
sarmos na relao que passamos a ter com os artefatos fabricados, passando
a tom-los tambm como providos de ao autnoma. Discutindo a eficcia
do sacramento, Latour se prope a estender essa definio a outros campos,
como a arte e a tcnica, a partir do conceito de instaurao, que ultrapassaria
a escolha impossvel entre duas substncias da mesma ordem, o simblico e
o material, o subjetivo e o objetivo, em direo a outra eficcia, a outra ligao,
a outra ontologia, a outra substncia, a da instaurao. (LATOUR, 2006, p. 56)
17 Palavra que, como bem lembra Latour, provoca mal-estar nos antroplogos.
18 Movimento que poderia ser anlogo ao que Latour, a partir do conceito de Etienne Souriau, descreve como
restaurao.
55
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 55 25/07/2013 09:08:45
snia weidner maluf
A noo de eficcia simblica tem sido utilizada para descrever e anali-
sar fenmenos outros que no a cura mdica convencional (biomedicina) e
a ao mecnica de causa e efeito, em geral explicveis pelas cincias exatas
ou biolgicas. A eficcia da cincia e da racionalidade modernas teriam como
fonte a separao entre sujeito e objeto, criador e criatura, agente e agido, ao
contrrio da eficcia simblica, fundamentada na abolio dessas diferenas.
No entanto, em pelo menos duas dimenses possvel relativizar essa dicoto-
mia entre essas duas concepes de eficcia, entre objetivismo e subjetivismo,
entre ritual e tcnica. A primeira delas diz respeito ao prprio tema da cura
e da eficcia teraputica, em que podemos observar, no campo da biomedi-
cina, dimenses da eficcia como resultado no de um agir sobre, mas onde
um fazer fazer (faire faire) toma a dianteira. Vamos pensar em um exemplo:
o do uso contemporneo de medicamentos antidepressivos por mulheres de
meia-idade. (MALUF, 2010) Independente da ao bioqumica da molcula que
compe o medicamento sobre a qumica cerebral, o significado do ato de to-
mar o medicamento produz um conjunto de afeces que vo muito alm da
bioqumica cerebral, jogando o especialista num dilema prximo ao do xam:
para alm de cura ou no cura, de produzir benefcio ou malefcio, a tecnologia
mdica inspira a questo de quanto produz um indviduo autnomo e autosu-
ficiente ou um indivduo formatado pela substncia.19 Por eficcia aqui estou
me referindo aos efeitos (positivos ou negativos, se que se pode dizer dessa
maneira) de um objeto, de uma ao, de um ritual ou mesmo de um contexto.
Uma dimenso que no se ope operao mecnica da molcula, mas que
ou a potencializa ou reduz seus efeitos, ou introduz outros resultados, efeitos,
no previstos explicitamente, mas presentes. Um outro agenciamento do
medicamento se produz aqui, alm de sua ao bioqumica, entendendo aqui
agenciamento como o ato, voluntrio ou involuntrio, de produzir efeitos em
outrem ou em outra coisa.
19 Em Facture/fractures..., Latour (2000) usa como anedota uma tira da Mafalda, do Quino, em que esta,
observando o pai fumando e indagada por este sobre por que estava olhando, responde: No, que num
determinado momento fiquei em dvida se era voc que estava fumando o cigarro, ou o cigarro que estava
te fumando. A pergunta somos ns, pacientes potenciais, que tomamos o medicamento, ou o medicamento
que nos toma aproxima esse artefato tcnico da discusso sobre o fetiche feita por Latour.
56
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 56 25/07/2013 09:08:45
eficcia simblica: dilemas tericos e desafios etnogrficos
A outra dimenso em que se pode relativizar a imunidade da racionalida-
de moderno-ocidental em relao s questes evocadas pela noo de eficcia
simblica pode ser discutida atravs de uma situao analisada por Jeanne Fa-
vret-Saada (2009b), a propsito de um processo judicial aberto pelo presiden-
te da Frana, Nicolas Sarkozy, contra a representao de sua imagem em uma
boneca vodu, vendida em um kit juntamente com um conjunto de alfinetes e
um manual de uso. As bonecas vodu e seus respectivos manuais de uso dos
dois principais candidatos presidncia francesa foram publicados por uma
editora francesa pequena em 2008. A editora comprou a ideia de outra empresa
estadunidense, que j havia colocado no comrcio diversas verses de bonecas
vodu, em 2007, de George W. Bush e Hillary Clinton, naquele momento ainda
pr-candidatos s eleies. Mas nos EUA as bonecas no tiveram grande reper-
cusso. Esse no foi o caso da verso francesa, de Royale e Sarkozy, que rapida-
mente esgotaram os vinte mil exemplares da primeira edio. O interessante
do desenrolar do processo impetrado por Sarkozy contra a editora foi que, para
que este tivesse acolhida, foram se produzindo argumentos, tanto pelo advo-
gado de Sarkozy quanto pelos magistrados, que acabaram gradativamente se
deslocando do direito imagem para a realidade da agresso mgica produzida
pelo ato de alfinetar a boneca do presidente, autentificando uma verdadeira f
na magia, segundo Favret-Saada. Isso na Repblica mais laica do planeta. No
primeiro processo, o argumento do advogado de Sarkozy, de direito imagem,
no foi considerado pelo juiz, que avaliou que tanto a boneca quanto os alfi-
netes eram parte do livro-manual de utilizao da boneca, protegido pela lei
francesa que garante o direito de expresso, caricatura e manifestao hu-
morstica. Em seu recurso, o advogado de Sarkozy acrescenta ao primeiro ar-
gumento de defesa de imagem um segundo conjunto de argumentos, fundado
na ideia de dignidade da pessoa e do corpo humano (FAVRET-SAADA, 2009b,
p. 19) e na ideia do ataque pessoa e ao corpo de Sarkozy que a boneca, como
um verdadeiro instrumento de tortura, representaria. Em resumo, a distncia
e a diferena entre a imagem do presidente (representada pela boneca vodu)
e a pessoa e o corpo do presidente se apagam (num verdadeiro deslocamen-
to do registro do corpo ao registro do fetiche (2009b, p. 23), numa confuso
entre o smbolo e a coisa: alfinetar a boneca a mesma coisa que alfinetar o
corpo do presidente, um atentado pessoa humana. Reconhecendo em parte
57
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 57 25/07/2013 09:08:45
snia weidner maluf
o argumento do advogado, a corte de apelao d ganho de causa a Sarkozy, no
entanto no atende sua demanda central que seria retirar a boneca de circu-
lao. Ela impe que todas as caixas contendo o kit boneca, manual e alfine-
tes devam portar uma tarja vermelha alertando sobre a incitao do leitor a
alfinetar a boneca..., o que subentende uma ao que provoca um mal fsico,
mesmo que simblico, constitui um atentado dignidade da pessoa de N. Sa-
rkozy, mensagem que, para Favret-Saada (2009b, p. 23), constitui a publicao
em larga escala da crena do tribunal na magia. E, poderamos completar, em
sua eficcia.
Referncias
AURELIANO, Waleska. Espiritualidade, sade e as artes de cura no contemporneo:
indefinio de margens e busca de fronteiras em um centro teraputico esprita no sul
do Brasil. 2011. Tese (Doutorado em Antropologia Social) - Programa de Ps-Graduao
em Antropologia Social, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis, UFSC,
2011.
BERNAND, Carmen; GRUZINSKI, Serge. De lidoltrie: une archologie des sciences
religieuses. Paris: Seuil, 1988.
DURKHEIM, mile. As formas elementares da vida religiosa: o sistema totmico na
Austrlia . So Paulo, SP: Martins Fontes, 2003. 609 p.
FAVRET-SAADA, J. Dsorceler. Paris: ditions de lOlivier, 2009a.
FAVRET-SAADA J. On y croit toujours plus quon ne croit. Sur le manuel vaudou dun
prsident. LHomme, v. 2, n. 190, p. 7-25, 2009b.
GENNEP, A. van Os ritos de passagem. Petrpolis: Vozes, 1978.
ISAMBERT, Franois. Rite et efficacit symbolique. Paris: Editions du Cerf, 1979.
KRISTEVA, J. Par dl la structure: une renaissance de lespace psychique. volution
Psychiatrique, v. 65, n. 3, p. 469-475, 2000.
LANGDON, Esther Jean. The symbolic efficacy of rituals: from ritual to performance.
Antropologia em Primeira Mo, Florianpolis: PPGAS/UFSC, n. 94, p. 5-40, 2005.
LATOUR, Bruno. Factures/fractures: de la notion de rseau celle dattachement. In:
MICOUD, Andr; PERONI, Michel. Ce qui nous relie. Paris: Editions de lAube, La Tour
dAigues, 2000, p. 189-208.
LATOUR, B. How to talk about the body? the normative dimension of sciences studies.
Body and society, v. 10, n. 2-3, p. 205-229, 2004
LATOUR, B. Efficacit ou instauration Vie et lumire, n. 270, p. 47-56, avril/juin. 2006.
58
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 58 25/07/2013 09:08:45
eficcia simblica: dilemas tericos e desafios etnogrficos
LATOUR, B. Sur le culte moderne des dieux faitiches. Suivi de Iconoclash. Paris: Les
Empcheurs de Penser en Rond/La Dcouverte, 2009.
LVI-STRAUSS, C. Introduction loeuvre de Marcel Mauss. In: MAUSS, M. Sociologie
et anthropologie. Paris: PUF, 1989.
LVI-STRAUSS. C. Le sorcier et sa magie. In: _______. Anthropologie structurale. Paris:
Plon, 1990a, p. 183-203.
LVI-STRAUSS. C. Lefficacit symbolique. In: _______. Anthropologie structurale. Paris:
Plon, 1990b, p. 205-226.
MALUF, S. W. Encontros perigosos: anlise antropolgica de narrativas de bruxas e
bruxarias na Lagoa da Conceio, Florianpolis. 1989. Dissertao (Mestrado em
Antropologia Social), UFSC, 1989.
MALUF, S. W. Encontros noturnos: bruxas e bruxarias na Lagoa da Conceio. Rio de
Janeiro: Rosa dos Tempos, 1993.
MALUF, S. W. Les enfants du Verseau ao pays des terreiros: les cultures thrapeutiques
et spirituelles alternatives au Sud du Brsil. 1996. Thse de Doctorat en Anthropologie
Sociale et Ethnologie, EHESS, 1996.
MALUF, S. W. Mitos coletivos e narrativas pessoais: cura ritual, trabalho teraputico e
emergncia do sujeito nas culturas da Nova Era. Mana, v. 11, n. 2, p. 499-528, 2005.
MAUSS, M.; HUBERT, H. Esquisse dune thorie gnrale de la magie. In: _______.
Sociologie et anthropologie. Paris: PUF, 1997.
RECHTMAN, R. De lefficacit thrapeutique et symbolique de la structure. volution
Psychiatrique, v. 65, n. 3, p. 511-530, 2000.
RECHTMAN, R. Retour sur lefficacit symbolique. In: DRACH, M.; BERNARD T.
Lanthropologie de Lvi-Strauss et la psychanalyse. Dune structure lautre. Paris: La
Dcouverte, 2008, p. 179-197.
SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de lingustica geral. So Paulo: Cultrix, 2006.
TARDITS, A. Le ternaire et la pnombre du symbole. In: DRACH, M.; BERNARD T.
Lanthropologie de Lvi-Strauss et la psychanalyse. Dune structure lautre, Paris: La
Dcouverte, 2008, p. 198-210.
TURNER, V. Floresta de Smbolos aspectos do ritual Ndembu. Niteri: Editora da
Universidade Federal Fluminense, 2005.
TURNER, V. Dramas, campos e metforas. Niteri: Editora da Universidade Federal
Fluminense, 2008.
59
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 59 25/07/2013 09:08:45
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 60 25/07/2013 09:08:45
Para um modelo antropolgico da prtica
psicoteraputica1
Michael Houseman
Introduo
Para muitos praticantes, existiria uma proximidade entre a prtica psicote-
raputica e a atividade ritual. No somente observam-se afinidades formais
entre essa prtica e certos eventos rituais a preocupao com uma participa-
o ampliada, o estabelecimento de um quadro espao- temporal inabitual, a
evocao de agentes ausentes ou invisveis, etc. , mas tambm, na terapia, um
recurso a rituais na forma de prescries mais ou menos elaboradas. (HART,
1983; Selvini-Palazzoli et al., 1980; Whiting, 1988) Assim, a terapia sistmi-
ca foi considerada como um processo ritual, notadamente em referncia pro-
gresso tripartida dos ritos de passagem introduzida por van Gennep (1909):
separao liminaridade agregao. (Kobak; Waters, 1985; White, 1986;
Roberts, 1988) Igualmente muito influente nesta direo foi o percurso de
Gregory Bateson que, atravs do paradigma ciberntico teria passado, de modo
contnuo, do estudo de um rito de travestimento dos Iatmul da Papua-Nova
Guin para seus trabalhos seminais sobre o double-bind e a esquizofrenia.
No entanto, eu tenho a impresso de que, em regra geral, as aproximaes
feitas entre psicoterapia e ritual so muito fceis. Sobretudo se elas so, antes
de tudo, de ordem metafrica e, por esta razo, essencialmente enganosas: se
elas permitem justaposies sugestivas, elas representam, ao mesmo tempo,
um entrave apreciao seja de um, seja de outro desses fenmenos enquanto
1 Texto original: Vers un modle anthropologique de la pratique psychothrapeutique. Thrapie familiale, v.
24, n. 3, p. 289-312, 2003. Traduo de La Freitas Perez. Reviso tcnica de Francesca Bassi.
61
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 61 25/07/2013 09:08:45
michael houseman
modalidades de interaes particulares.2 Para o antroplogo que sou, haveria
pelo menos duas direes possveis para encarar de modo mais rigoroso a re-
lao entre o ritual e a prtica psicoteraputica. A primeira, que eu persigo h
muitos anos (Houseman; Severi, 1998; Houseman, 1998, 1999, 2000, 2001),
consiste em considerar as aes rituais de um ponto de vista sistemtico, isto
, centrando a anlise na lgica interativa que, no curso desses eventos, preside
o estabelecimento de relaes especficas. A outra direo consiste em abordar
a psicoterapia como objeto de estudo antropolgico a fim de ressaltar sua com-
plexidade prpria. essa segunda via que me proponho explorar aqui. Abordar
a prtica psicoteraputica desta maneira coloca implicitamente a questo de
seu estatuto enquanto modalidade distinta de interao. De um ponto de vista
antropolgico, o interesse de um tal questionamento reside, antes de tudo, nas
aberturas comparativas que ele pode suscitar: articulao, em novas bases, no
somente dos modelos teraputicos divergentes, no Ocidente e alhures, mas
igualmente uma articulao da terapia com outros fatos sociais de ordem ceri-
monial, ldica, teatral ou cotidiana.
Antes de comear, uma precauo: eu no sou terapeuta. As ideias aqui ex-
postas no procedem nem de uma familiaridade prtica com a psicoterapia
(salvo como cliente), nem mesmo de seu estudo sistemtico, mas da frequen-
tao, frequncia mais ou menos regular de um certo nmero desses prati-
cantes.3 Contudo, minha inteno no a de propor uma anlise acabada da
2 Se no mais totalmente o caso de que existe entre os etnlogos, como afirmou, no faz muito tempo, E. Leach
(1968, p. 526), um desacordo mximo quanto ao que se deve entender pela palavra ritual, os etnlogos esto
longe de se entenderem quanto a uma definio clara e precisa desse fennemo. Da minha parte,considero o
ritual (e sua verso processual, a ritualizao) como um modo particular de participao, cujas propriedades
permanecem, em grande parte a descobrir. Tomadas essas precaues, eu me permito oferecer a seguin-
te conceptualizao: por meio de formas de comportamento estipuladas atravs das quais so atualizadas
relaes ao mesmo tempo altamente sugestivas (relacionadas a uma multiplicidade de domnios) e funda-
mentalmente ambguas (pois implicam uma condensao de modos relacionais nominalmente antitticos),
os atos rituais oferecem aos participantes experincias excepcionais, altamente integradoras, sustentadas por
um grau de autorreferncia (tradicionalismo) e pela introduo de agentes e de idomas especficos (simbolis-
mo); assim, eles fornecem aos participantes contextos irrefutveis que permitem uma reavaliao das relaes
coordenadads que constituem seu universo social. Para uma verso (ligeiramente) mais densa e argumentada
desta definio, confira Houseman (2003); para um sobrevoo til das abordagens antropolgicas do ritual,
confira Bell (1977); para as discusses recentes deste problema a partir de estudos de caso, confira, por exem-
plo, Humphrey e Laidlow (1994), e Houseman e Severi (1998).
3 So notadamente terapeutas sistemticos que reivindicam, na maior parte, o modelo da terapia breve
centrada em solues (solution-focused brief therapy): Marie-Christine Cabi, Yvonne Dolan, Carole Gam-
mer, Luc Isebaert, Insoo Kim Berg, Marika Moisseeff e Steve de Shazer. Assinalo igualmente que a maioria
das ideias aqui apresentadas foram elaboradas nos quadros de discusses ocorridas no grupo de reflexo
62
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 62 25/07/2013 09:08:46
para um modelo antropolgico da prtica psicoteraputica
terapia, mas de lanar sobre ela um olhar distanciado (Lvi-Strauss, 1983) e
assim sublinhar certos aspectos desse fenmeno que, muito frequentemente,
no dizem nada para os prprios terapeutas.
A prtica psicoteraputica ser aqui considerada como uma imbricao de
trs contextos relacionais. Me explico. O que podemos chamar de trabalho de
terapia ser considerado como uma maneira particular (longe de ser a nica)
de fazer emergir as condies da mudana relacional, em outros termos, como
um contexto que permite a atualizao de tais mudanas. (Cabi; Isebaert,
1977, 2000) Contudo, as interaes entre o cliente e o terapeuta, que compem
esse contexto de mudana, realizam-se em um contexto mais amplo que lhes
fornece suas condies de realizao.4 Trata-se do que convencionado cha-
mar de relao teraputica que se estabelece entre o cliente e o terapeuta
quando de seu encontro. Ora, este contexto englobante que a relao tera-
putica se realiza, por sua vez, em um contexto ainda mais inclusivo, o con-
texto social, se assim quisermos, que constitudo pelas redes de relaes das
quais participam, por caminhos diferentes, o cliente e o terapeuta. Assim, os
termos relao e contextoreferem-se a uma mesma realidade uma con-
figurao relacional , mas considerada de duas maneiras diferentes: o que
aparece como um contexto, no que diz respeito s relaes para as quais ele
representa as condies de atualizao, , ao mesmo tempo, uma relao ou
um sistema de relaes cujas condies de atualizao so dadas por um con-
texto mais amplo, ele mesmo constitudo por um conjunto de relaes. Partin-
do, ento, de uma hiptese de que a prtica teraputica envolve vrios nveis
contextuais, eu vou interrogar-me sobre certos aspectos desses trs contextos.
De alto a baixo so:
Antropologia clnica (Marie-Christine Cabi, Giordana Charuty, Luc Isebaert, Michael Houseman, Marika
Moisseeff e Anne-Christine Taylor). Os mais acabados dos argumentos so os nossos; os menos bem suce-
didos, os meus. Certas partes da argumentao foram apresentadas no 6 colquio da Sociedade Francesa
de Terapia Familiar (27 de janeiro de 2001, Paris) e nos quadros da equipe As razes da prtica: invariantes,
universais, diversidade do Laboratrio de Antropologia Social (EHESS/CNRS/Collge de France). Enfim, uma
primeira verso deste texto beneficiou-se de observaes de Michel Carthy, Arnaud Halloy, Jacques Mier-
mont, Vronique Regamey, Carlo Severi, Eduardo Viveiros de Castro e dos membros do atelier Manuscritos
em curso do laboratrio de pensamento na frica negra (EPHE/CNRS). Agradeo a todos.
4 Seguindo uma tendncia atual, no utilizarei o termo paciente, mas o de cliente, entendendo, assim, o cliente
e seu sistema (familiar ou outro); por comodidade, cliente e terapeuta estaro sempre no masculino.
63
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 63 25/07/2013 09:08:46
michael houseman
1. as redes sociais nas quais participam o cliente e o terapeuta e que representam
o contexto de seu encontro;
2. a estrutura relacional que preside esse encontro e que d o contexto do traba-
lho de terapia e;
3. os procedimentos interativos que intervm no curso desse trabalho teraputi-
co para criar um contexto de mudana relacional.
As redes sociais: o contexto do encontro entre cliente e terapeuta
O que predispe o cliente e o terapeuta a estabelecer uma relao teraputica?
O que eles trazem, um e outro, para a consulta que lhes permite se engajar com
tanto de natural na via teraputica? Tentar responder a essas questes nos
obriga a ampliar o campo de observao para alm da interao cliente/terapeu-
ta. Assim, nos debruaremos sobre a maneira pela qual a participao do cliente
e do terapeuta em suas respectivas redes sociais pode preparar o campo para o
elo muito particular que vai se estabelecer entre eles quando de seu encontro.
Do lado do cliente
Estimo que em mim as coisas (cuja natureza exata no pertinente aqui) no
vo bem. Desejo, pelo menos em parte, que isso mude. Falo sobre isso minha
volta, com meus prximos, parentes ou amigos, e eventualmente, aconselhado
por eles, com outras pessoas, mais distantes, mas que supostamente tiveram
uma certa experincia parecida com os problemas com os quais encontro-me
confrontado (o tio de um amigo, um professor, um representante religioso etc.).
Progressivamente, se a situao persiste, considero ir a um terapeuta. Acon-
selho-me, ouo recomendaes, me informo sobre tal ou qual indivduo ou
servio, sobre tal ou qual tipo de terapia, etc. Finalmente, decido marcar uma
consulta. Ligo para o servio ou para a pessoa em questo, explico o meu dese-
jo e acordamos uma data. Espero. O dia e a hora chegam e me dirijo quele ou
quela que me espera para uma consulta.
No curso desse longo processo, o indivduo concernido tudo, menos pas-
sivo. Suas interrogaes e as entrevistas que ele pode ter participam de um tra-
balho constante de reflexo, no somente sobre ele mesmo, seu comportamento,
seus limites, suas aspiraes, sua famlia, suas amizades, seu trabalho, etc., mas
64
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 64 25/07/2013 09:08:46
para um modelo antropolgico da prtica psicoteraputica
igualmente sobre a natureza da relao entre cliente e terapeuta. O que ir
terapia? O que quer dizer tornar-se cliente? Surgem uma srie de imagens, de
avaliaes e de hipteses pelas quais o cliente, imaginando, tanto as reaes do
terapeuta quanto as suas, elabora uma representao interior da relao terapu-
tica.5 Para melhor cercar esse trabalho preparatrio, consideremos as mudanas
de atitude que distinguiriam, para o cliente, o fato de discutir seus problemas
com seus prximos da escolha de consultar um terapeuta.
Essa mudana de atitude consiste, sumariamente, em duas coisas que di-
zem respeito viso que o cliente tem do terapeuta enquanto profissional. Em
primeiro lugar, quando me entrevisto com um amigo ou amiga, a pressuposi-
o tcita no somente que posso mudar, mas que posso me mudar: espero
dele ou dela indicaes que me permitiro ver minha situao de maneira di-
ferente (de seu ponto de vista) e agir em consequncia. Porm, quando decido
consultar um terapeuta, minha atitude diante dele no a mesma: persisto em
pensar que posso mudar, mas diante da aparente incapacidade de faz-lo eu
mesmo, espero do terapeuta que ele faa alguma coisa para que eu mude. Ora,
se eu atribuo interao com o terapeuta um tal poder de provocar em mim
uma mudana (sem que a natureza dessa operao seja necessariamente bem
definida), que estimo que o terapeuta se diferencia de meus prximos em um
ponto essencial. Meus prximos, reagindo a meus propsitos, agem, antes de
tudo, por eles mesmos: suas palavras e atitudes em relao a mim so suben-
tendidas por suas prprias emoes e intenes, estando em primeiro lugar
o fato que eles me querem bem. Em contrapartida, o terapeuta, mobilizando
uma habilidade especfica, da qual ele tem o domnio, suposto a intervir, an-
tes de tudo, para mim, e no para ele mesmo; seus prprios sentimentos e mo-
tivao no esto envolvidos. por isso que o pagamos: seu trabalho. Assim,
5 O retrato falado do cliente aqui apresentado evidentemente redutor. Muitas pessoas chegam terapia nos
quadros de recomendaes profissionais (emanadas de servios hospitalares, de instncias jurdicas, da pol-
cia) ou constrangidos por seus cnjuges ou membros da famlia. Contudo, procuro com este esboo simplista
sublinhar o fato de que o cliente raramente comea uma prtica teraputica a frio. Essa prtica inevitavel-
mente acompanhada de uma reflexo do cliente sobre ele mesmo e de uma demarcao do terapeuta vis a
vis de outros interlocutores de seu crculo, operaes que organizam e orientam as expectativas que o cliente
tem em relao ao terapeuta. Essa medida deve ser considerada como um aspecto constitutivo do processo
teraputico na medida em que ela pressuposta pelo estabelecimento de uma relao cliente/terapeuta ca-
paz de fornecer o contexto para o trabalho teraputico propriamente dito. Nessa perspectiva, no havendo
demanda, impossvel haver terapia.
65
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 65 25/07/2013 09:08:46
michael houseman
o terapeuta ocuparia vis a vis de mim uma posio ao mesmo tempo de grande
proximidade (enquanto alter ego que faria comigo o que no consigo a fazer
por mim mesmo) e de distanciamento (enquanto estrangeiro com quem no
tenho relaes comuns). porque os membros de meu crculo so prximos e,
por este fato, tm suas prprias perspectivas sobre mim (perspectivas que eu
considero) que eles no podem fazer o que eu posso esperar de um profissional
desinteressado: que ele se coloque no meu lugar.
Eis, portanto, as proposies que animam a espera do cliente: de um lado,
cabe ao terapeuta desencadear nele uma mudana , pois ele no pode mudar
a si prprio e, de outro lado, o terapeuta agir, assim, de maneira impessoal,
em nome do cliente, e no em nome prprio. Convm sublinhar que isto no
quer dizer que o cliente simplesmente busca se fazer manipular sem que sua
prpria vontade intervenha, nem que ele no experimente sentimentos ambi-
valentes vis a vis da terapia e do terapeuta, nem, enfim, que ele no reconhea
que o terapeuta, enquanto indivduo, possa ter atitudes pessoais em relao a
ele. Simplesmente, face a um sofrimento cada vez menos suportvel, abatido
pelo sentimento de que suas escolhas diminuem e que ele no pode fazer de
outro modo, essas consideraes so como uma colocao em parnteses em
benefcio de uma atitude mais simples, plana ou unidimensional: a busca por
um algum que, de maneira desapegada, garantir que ele mude. Como essa
viso das coisas se articula com a que pode ter o terapeuta?
Do lado do terapeuta
O terapeuta participa, ele tambm, de uma rede social onde figuram no so-
mente amigos e membros de sua famlia, mas, sobretudo, no que nos concerne
aqui, outros terapeutas. Refiro-me aqui aos numerosos encontros entre cole-
gas, notadamente durante colquios, estgios, grupos, supervises, etc., no
curso dos quais partilham suas experincias e compartilham as dificuldades
com as quais se confrontam.6 Nos quadros dessas reunies, nas quais muitos
terapeutas fundam a legitimidade de seu estatuto enquanto profissionais, eles
6 Agradeo a Marika Moisseeff por ter me chamado ateno para a importncia desses encontros profissionais
para a compreenso da prtica teraputica.
66
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 66 25/07/2013 09:08:46
para um modelo antropolgico da prtica psicoteraputica
conduzem uma reflexo semelhante quela que persegue, de maneira mais so-
litria, aquele que est prestes a se tornar cliente: sobre eles mesmos, sobre
seus medos, sobre suas ambies etc., mas tambm sobre a natureza e os obje-
tivos da relao teraputica e sobre seu papel no seio dessa relao. Tentemos
imaginar como esse trabalho de autorrepresentao, constantemente reiterado,
pode orientar a atitude do terapeuta diante de seu cliente.
Quando de tais reunies profissionais, aqueles que as assistem no se
comportam nem como terapeutas diante de clientes, nem como clientes
diante de terapeutas, mas de uma maneira que, sem que as relaes hierr-
quicas sejam excludas, relembra as relaes que o cliente tem com seus
prximos: os participantes esperam uns dos outros que exprimam, por suas
palavras e atos, seus prprios valores e experincias, que eles intervenham,
certamente, em nome de seus interlocutores, mas, igualmente, para si mes-
mos. somente tal situao, grandemente personalizada, s vezes conflitual,
mas onde, idealmente, os sentimentos e as emoes de cada um so, ao mes-
mo tempo, encorajados e respeitados, que as interrogaes, as inquietaes
e as especulaes dos participantes podem ser expostas para tornarem-se ob-
jetos de uma reflexo comum. Ora, essa reflexo se organiza, para muitos, em
torno de dois desafios recorrentes que reencontramos expressos no conjunto
das tradies teraputicas, sejam ocidentais ou no: o da tica e o da tcnica.
No corao do desafio tico se encontra a seguinte preocupao: como
posso fazer o bem, posso igualmente fazer o mal (ainda que apenas por omis-
so ou incompetncia). Nos quadros da psicoterapia, e talvez mais ainda no da
terapia sistemtica, esse dilema se coloca sob a forma de uma injuno: o tera-
peuta deve buscar no mudar o cliente, mas permitir a ele se mudar a si mesmo.
Com efeito, o grande perigo para o terapeuta seria fazer alguma coisa no lugar
do cliente, no somente porque isso no seria exitoso (pois o terapeuta que o
quer, e no o cliente), mas, sobretudo, porque so as vontades e as escolhas do
cliente, e no as do terapeuta, que devem ser respeitadas a todo custo. Encon-
tramos aqui o eco do que representa para muitos os dois princpios fundadores
da prtica ericksoniana (Haley, 1973): o cliente capaz de saber o que bom
para ele e tem em si os recursos para faz-lo. Essa situao paradoxal na qual
se coloca o terapeuta no sempre fcil de gerir. No nos surpreendamos, pois,
de constatar que um grande nmero de respostas dadas quando de encontros
67
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 67 25/07/2013 09:08:46
michael houseman
profissionais a propsito de tal ou qual dificuldade relatada por um participan-
te consistem em tranquiliz-lo quanto aos limites do que ele capaz de fazer
enquanto terapeuta. Esta seria uma primeira atitude do terapeuta que resulta
de sua participao em sua rede profissional: ele no deve esquecer que ele
no todo poderoso; as mudanas que sua interveno pode ocasionar em seu
cliente so limitadas e, muito frequentemente, incertas; elas dependem, em
ltima instncia, no do terapeuta, mas do prprio cliente.
Quanto ao desafio tcnico, ele se resume na seguinte interrogao: em
que medida a eficcia da terapia deriva de um conjunto de procedimentos
tcnicos ou das qualidades prprias dos praticantes? A resposta que traz a re-
flexo coletiva dos pares a esta questo a saber que os dois contam no
simples. De um lado, a quantidade de esforos e de energia consagrados
transformao de procedimentos protocolares e aos raciocnios que lhe so
subjacentes atesta claramente a importncia explicitamente reconhecida
da dimenso tcnica da terapia (dimenso que, em acrscimo, permite dis-
criminar diferentes modelos teraputicos). Mas, ao mesmo tempo, o qua-
dro grandemente personalizado, mesmo ntimo, no qual a exposio dessas
consideraes tcnicas tem lugar, serve de testemunha, geralmente de modo
implcito, do grande valor acordado s qualidades dos terapeutas enquanto
indivduos. Assim, a questo da participao da pessoa numa atividade que
se define atravs de uma habilidade tcnica permanece em suspenso, pois os
termos do dilema, no se situando no mesmo plano, no so jamais verda-
deiramente confrontados. Ora, isso no impede que entre os psicoterapeutas
essa interrogao encontre sua resoluo privada na convico que cada um
tem de que, se ele pratica a terapia, no tanto porque ele a escolheu, mas por-
que em razo de suas experincias de vida, dos acasos de sua formao, dos
encontros com outros, etc., ele foi chamado a s-lo.7 supor, em suma, que
a terapia que escolhe seus terapeutas, e no o inverso. Se, como afirma volun-
tariamente um grande nmero de terapeutas, no nos tornamos terapeutas
por acaso (proposio frequentemente avanada por praticantes de outras
tradies teraputicas, no Ocidente e alhures), porque se pessoalmente
predisposto a s-lo. Encontramos aqui uma segunda atitude do terapeuta que
7 propsito de tais fatores no especficos em terapia, confira Lazarus (1981) e Norcross (1986).
68
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 68 25/07/2013 09:08:46
para um modelo antropolgico da prtica psicoteraputica
confortada por sua participao em encontros com colegas: a habilidade tc-
nica primordial, mas no tudo. Existe nele um outro nvel de competncia
que da alada de sua histria particular e de sua sensibilidade pessoal.
Desta maneira, as atitudes do cliente e do paciente que derivam de sua par-
ticipao em suas respectivas redes sociais, atitudes que eles trazem consigo
para a consulta, so quase o inverso uma da outra: enquanto o cliente espera
que o terapeuta mude-o, o terapeuta se resguarda de faz-lo. Enquanto o clien-
te espera que o terapeuta aja de maneira impessoal, enquanto personalidade
particular que o terapeuta deve agir. Como se realiza a articulao entre essas
duas perspectivas divergentes? A fim de reconciliar as ideias que ele faz de sua
prtica e as expectativas em parte contraditrias do cliente, o terapeuta, ape-
lando sua habilidade tcnica, tender a adotar uma atitude cuja ambivaln-
cia testemunha que ela faz intervir, de maneira simultnea, em dois planos
diferentes: agindo impessoalmente, mas sua maneira pessoal, ele buscar,
de algum modo, mudar o cliente a fim de que ele possa escolher se mudar.8
Querendo fazer o que antecipa o cliente, mas no do modo como o cliente o
espera, o terapeuta se desdobra: o papel que ele assumir vis a vis do cliente
se beneficia de uma dimenso suplementar. o inverso do cliente que, sob a
presso, de alguma forma, de seu sofrimento ter tendncia a se situar em um
plano nico, a saber: aquele de sua urgente necessidade de um intermedirio
separado que possa faz-lo evoluir. esse desdobramento virtual do terapeuta
(ao mesmo tempo impessoal e pessoal, buscando, ao mesmo tempo, mudar e
no mudar) face atitude plana do cliente (em busca de uma fonte impessoal
de mudana) que, se tudo correr bem, servir de ponto de partida para o esta-
belecimento da relao teraputica.
Princpios de pragmtica intuitiva: uma caixa de ferramentas
A fim de identificar a lgica interativa que preside a consulta teraputica e, as-
sim, traar os contornos da relao que se estabelece, vou fazer recurso a um
fundo de hipteses que permitem identificar e relacionar diferentes princpios
8 A posio delicada do terapeuta sucintamente resumida em um cartaz publicitrio de Bob Patterson,
Americas number three self-help guru (ajude-me a vos ajudar a me ajudar).
69
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 69 25/07/2013 09:08:46
michael houseman
de pragmtica intuitiva que operam nas atividades sociais. O modelo que pro-
ponho, que ser aqui apenas esboado, se distingue entre quatro orientaes
pragmticas, associadas, de modo aproximativo, com os seguintes vocbulos:
INTERAO COMUM, RITUAL, JOGO e ESPETCULO. A divergncia entre es-
sas orientaes no se funde em critrios objetivos, diretamente observveis,
mas em consideraes de ordem subjetiva, isto , prprias experincia dos
prprios participantes. Mais precisamente, ela se relaciona s suposies que
os participantes partilham quanto natureza da relao entre eles: de um lado,
os comportamentos perceptveis (podendo incluir tanto palavras quanto atos),
e, de outro, as disposies afetivas e intencionais daqueles que as realizam.
Em suma, parto da ideia de que o elo entre aes e disposies no vivido da
mesma maneira no caso do rito, do jogo, do espetculo ou da interao comum.
A interao cotidiana
Ela fundada na premissa de que existe, em princpio, no somente um grau de
coerncia entre as disposies e os atos, mas, ainda mais, uma certa orientao
entre esses dois registros: espera-se que os atos exprimam ou notifiquem as
emoes e as intenes (disposies aes). Minha maneira de agir refletiria
meus estados internos: se eu ficar irritado porque estou com raiva. Encontra-
mos, nesse princpio de notificao, o que Searle (1972), em referncia aos atos
de linguagem, nomeia de condio de sinceridade e que Grice (1979), antes
dele, sob o nome de mxima de qualidade, considera entre as condies de
conversao, cujo interesse principal no tanto que estas devam ser respei-
tadas pelos interlocutores, mas pressupostas por eles, de modo que eles pos-
sam explor-las, por exemplo, nas figuras de retrica. Pois, j que ningum tem
acesso direto s motivaes e aos sentimentos de um outro, a equao Disposi-
es Aes frequentemente incerta: a relao entre estados privados e com-
portamentos perceptveis pode ser expressamente modificada ou dissimulada.
Segue-se que a interao cotidiana comporta inevitavelmente uma parte im-
portante de negociao no curso da qual as posies dos participantes esto
continuamente em ajuste. Dependendo se minha raiva gere no outro um ato
agressivo ou uma atitude de aquiescncia, meus sentimentos sero modifica-
dos e eu agirei em consequncia. Deste ponto de vista, enquanto as disposies
70
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 70 25/07/2013 09:08:46
para um modelo antropolgico da prtica psicoteraputica
forem bem definidas, os comportamentos aparecem como contingentes. Em
suma, sobre as bases de uma experincia de suas emoes e intenes, assim
como sobre a base de inferncias relativas s emoes e intenes dos outros
(inferncias estabelecidas a partir de uma observao de seus comportamen-
tos), os participantes de uma interao comum engajam-se na construo de
uma realidade social mutuamente acomodante.
O ritual
No caso dos eventos rituais, a situao diferente. A estruturao do compor-
tamento, se ela pode integrar uma parte de negociao ou de improvisao,
permanece grandemente constrangida. So formas de conduta bem definidas,
convencionais ou estipuladas atos arqutipos, aos quais no se aplicam as
condies comuns de intencionalidade (Humphrey; Laidlaw, 1994) que
supostamente fornecem aos participantes as bases tangveis para a elaborao
de seus sentimentos individuais. A eficcia de uma ao ritual, isto , a ade-
so dos participantes s realidades que essa ao coloca em cena, exige que
eles tenham delas uma experincia pessoal. Mas essa experincia, investida de
emoes e de intenes que so prprias a cada um dos participantes, compor-
ta inevitavelmente uma parte de idiossincrasia. Ainda mais levando em conta
que as aes rituais so muito frequentemente ambguas, polissmicas, mes-
mo paradoxais. Elas incorporam elementos tirados de uma variedade de dom-
nios, e, na maior parte do tempo, implicam a condensao de modalidades de
relao nominalmente antitticas (Houseman; Severi, 1998): uma agresso
violenta , ao mesmo tempo, um ato de maternagem protetora; uma exibio
de autoridade , simultaneamente, uma demonstrao de subordinao; um
segredo revelado , ao mesmo tempo, uma dissimulao, etc. Em consequn-
cia, as emoes e motivaes que seriam apropriadas a essas aes so difceis
de determinar: as disposies afetivas e intencionais dos participantes perma-
necem, em grande medida, variveis de um indivduo a outro; o resultado de
uma negociao permanece, de algum modo, dependendo da relao de cada
um consigo mesmo.
Tomemos um rpido exemplo. No porque as mulheres estejam tristes e
com raiva que elas gritam e choram vendo os garotos da aldeia partirem para o
71
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 71 25/07/2013 09:08:46
michael houseman
acampamento de iniciao, onde, dizem, eles sero devorado por um monstro.
Algumas dessas mulheres podem estar mais ou menos tristes ou com raiva, ou-
tras estaro orgulhosas ou ansiosas, ou ainda divertindo-se. H boas chances
de que elas experimentem uma mistura de sentimentos contraditrios, ainda
mais que um grande nmero est consciente de que a realidade do monstro
em questo tudo, menos certa, contrariamente ao que podem imaginar os ga-
rotos, que ouvem seus gritos e choros de desespero. Em contrapartida, a ao
de gritar e de chorar prescrita nos quadros do rito impe a essas mulheres uma
ancoragem comum que modela seu vivido individual desse episdio emocio-
nante. Aqui, a pressuposio que rege a adequao entre os atos, de um lado,
e as disposies emocionais e intencionais, de outro, so, portanto, o inverso
daquela que preside a interao cotidiana: no se trata de um comportamento
socialmente negociado que notificaria as disposies afetivas e intencionais
dos participantes, mas de um comportamento imposto, no interior do qual
cada uma delas elabora sues estados interiores. So aes que introduzem para
os participantes suas disposies (Disposies Aes). Designar-se- essa
pressuposio pragmtica, segundo a qual os atos rituais, a despeito de seu
carter prescrito, no so realmente menos sentidas, quando se falar de uma
condio no mais de notificao, mas de instruo.
Para resumir em grandes traos o contraste entre interao comum e ri-
tual, enquanto procedentes de postulados pragmticos diferentes, poder-se-
-ia dizer que enquanto na interao comum a questo dominante : dado o
que eu sinto (e que posso inferir do sentir dos outros), como devo agir?; no
ritual, antes: dada minha maneira de agir (e o que posso perceber das aes
dos outros), o que devo sentir?. Os dois casos supem, portanto, uma con-
tinuidade ou congruncia entre disposies pessoais, de um lado, e atos, de
outro, mas orientadas em sentidos opostos.
O jogo
O que importa em uma partida de damas ou de poker, por exemplo, no que os
atos dos jogadores expressem suas emoes e intenes, mas, antes, que esses
atos se conformem a um conjunto de regras ou de convenes que existem inde-
pendentemente dos afetos e das motivaes dos participantes e cuja observao
72
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 72 25/07/2013 09:08:46
para um modelo antropolgico da prtica psicoteraputica
constitutiva de sua interao enquanto jogadores.9 Esta pressuposio pragm-
tica que rege a atividade ldica, segundo a qual existiria uma ruptura entre as
disposies pessoais dos participantes e sua interao comum, facilmente en-
contrada na expresso apenas um jogo. De modo similar, um participante que
se deixasse invadir por suas emoes quando, por exemplo, tivesse perdido, se
veria tratado como mau jogador. O jogo aparece, assim, primeira vista, como
o contrrio da interao comum: o jogo se distinguiria da interao comum no
como o ritual, em razo de uma inverso de orientao do elo entre disposies
e aes, mas em virtude de uma ruptura desse elo. Dir-se-ia, assim, do jogo que
ele regido por uma condio pragmtica de conformidade (Disposies |
Aes). Sejamos claros. Isso no quer dizer que no deva haver emoes no jogo,
mas somente que as emoes, que autorizam uma situao de jogo, assim como
a expresso dessas emoes, no so, por si ss, constitutivas da interao es-
pecfica na qual esto engajados seus participantes. H ainda aqui um problema
sobre o qual quero retornar: um jogo que no comportasse nenhuma experincia
afetiva seria tedioso e haveria poucas razes para ser prosseguido. Em resumo:
seria um mau jogo (tanto para os jogadores quanto para os eventuais expectado-
res). Assim, a situao pragmtica que subtende o jogo revela-se mais complexa.
Mais precisamente, ela favorece um certo desdobramento nos participantes que
devem agir fazendo intervir suas emoes e intenes, mas fazendo com que
elas no entravem o desenvolvimento de seus atos, os quais so regidos no so-
mente por suas disposies pessoais, mas tambm por uma outra coisa, a saber:
as regras ou convenes do jogo em questo. Um jogo revela-se, de fato, tanto
mais interessante se existe essa tenso entre as disposies emocionais e inten-
cionais dos jogadores e o imperativo de subordinar suas aes a preceitos exter-
nos. Seria, portanto, mais exato caracterizar a condio de conformidade que
preside uma situao de jogo como um elo orientado de disposies para aes,
mas que integra um grau de descontinuidade ou de no congruncia.
9 Se a noo de jogo aqui introduzida, sobretudo no senso do ingls game, no qual as regras do jogo podem,
em princpio, ser claramente explicitadas, e no no senso de play, onde essa explicao mais problemtica,
porque busco acentuar o que esses dois tipos de jogo teriam em comum (e que mais sensvel no caso do
game), a saber: uma interao modulada pela subordinao das disposies espontneas suposio de pre-
ceitos ou de convenes que lhes so exteriores.
73
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 73 25/07/2013 09:08:46
michael houseman
O espetculo
Enfim, completamos nosso quadro nos debruando sobre o caso do espetculo,
tomando como exemplo a apresentao teatral. A orientao do elo entre dispo-
sies e aes no teatro seria semelhante quela que encontramos no rito: so os
atos do espetculo que supostamente provocam naqueles que dele participam
estados emocionais. Ao mesmo tempo, o espetculo apresenta uma diferena
essencial em relao ao ritual na medida em que, assim como o jogo, ele pressu-
pe um grau de no congruncia entre o comportamento do ator e as emoes e
intenes que podem induzir esse comportamento.10 De fato, o prprio do espe-
tculo que no so os atores, eles mesmos, que devem ser emocionados pelos
procedimentos das personagens, mas os espectadores, e que a inibio do afeti-
vo nos atores se impe como condio para promover o sentimento nos especta-
dores. O conjunto das diferentes escolas de teatro, mesmo aquelas de inspirao
stanislavskiana (Stanislavski, 1937), que atribuem uma primazia ao sentimen-
to do ator, concordam sobre este ponto: imperativo que o ator distancie relati-
vamente s emoes e s intenes da personagem que ele exibe no palco. Assim,
enquanto um estado de raiva comporta comumente uma tenso muscular, para
que um ator possa representar de maneira convincente algum com raiva, ele
deve, ao contrrio, permanecer to descontrado quanto possvel; idealmente,
no expectador que a crispao dos msculos se far sentir. A condio pragm-
tica que preside a uma situao de espetculo, que se pode caracterizar como
uma condio de exibio, seria, portanto, aquela de uma interrupo do elo
orientado dos atos para as disposies (Disposies | Aes).
Mas, igualmente como o jogo, a situao do espetculo , de fato, mais
complexa. Um ator que se limita imitao, isto , a reproduzir com tanta ve-
rossimilhana quanto possvel os gestos, o modo, a voz, etc., de uma pessoa
com raiva, por exemplo, , de modo geral, um mau ator. Longe de despertar
emoes nos que o assistem, ele ser tanto enfadonho (e enfadado) quanto um
jogador que, indiferente concluso do jogo, aja somente segundo suas regras.
Toda a arte do ator consiste precisamente em animar seu papel com emoes
e com intenes oriundas de seu vivido pessoal, mas sem que elas se confun-
10 Para uma anlise diferente das condies pragmticas que regem uma situao de enunciao ritual, em
contraste com aquelas que operam na apresentao teatral, confira. Severi (2002).
74
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 74 25/07/2013 09:08:46
para um modelo antropolgico da prtica psicoteraputica
dam com as motivaes e com os estados afetivos atribuveis personagem
que ele representa. O ator inflectir os comportamentos expressivos que so o
ponto de partida de seu trabalho estilo de elocuo, atitudes faciais e corpo-
rais, etc. de elementos tirados de sua prpria experincia (de ator, mas tam-
bm de sua vida cotidiana), a fim de restituir essa representao, ao mesmo
tempo, pblica e personalizada por meio da experincia cnica que responde
a exigncias especficas (um texto a pronunciar, a escuta e o olhar dos expecta-
dores, as ideias do diretor, etc.). atravs desse processo, que o fruto de uma
longa aprendizagem tcnica e que, quando plenamente dominada, torna-se
uma segunda natureza, que o ator triunfa em apresentar uma personagem ca-
paz de comover, isto , dotada, vista dos espectadores, de sentimentos e de
intenes, mas que no so aqueles do ator. Deste ponto de vista, a eficcia
do desempenho do ator relaciona-se ao fato de que ele age em cena enquanto
sujeito virtualmente desdobrado: ator (singularizado pelo seu prprio vivido
afetivo e intencional) e papel (representao distanciada de um modelo da
experincia) se impem como distintos, mas necessariamente ligados entre
si. a tenso que produz essa co presena e a latitude do movimento que ela
sugere que induzem no espectador o esboo de um desdobramento similar: no
tempo do espetculo e, s vezes, para alm, o expectador se v, ao mesmo tem-
po, como qualquer um que assiste a uma produo fictcia e, diferentemente,
como intensamente afetado pelo agir das personagens. Ele , ao mesmo tempo,
presente no teatro e transportado alhures.
As quatro modalidades de interao e de representao
Apresentadas abaixo, elas so definidas, de um lado, pela orientao do elo en-
tre disposies e aes e, de outro lado, pela injuno positiva ou negativa que
esse elo comporta.
Figura 1
INTERAO ORDINRIA JOGO
<<Notificao>> <<Conformidade>>
Disposies Aes Disposies Aes
RITUAL ESPETCULO
<<Instruo>> <<Exibio>>
Disposies Aes Disposies Aes
75
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 75 25/07/2013 09:08:46
michael houseman
Antes de nos interrogarmos sobre o processo teraputico luz dessa grade,
convm sublinhar que os princpios de notificao, de conformidade, de
instruo e de exibio no constituem descries desses diferentes tipos
de atividades. Eles correspondem a pressupostos pragmticos que, de modo im-
plcito e sem que sejam sistematicamente respeitados nos fatos, orientam a
participao e, por esta razo, o reconhecimento de diferentes gneros se d
a ver. O que j designei como INTERSO COMUM, RITUAL, JOGO e ESPET-
CULO no representam, portanto, categorias fenomenolgicas estanques, mas
polos organizadores que infletiriam a participao coordenada dos atores em
sentidos particulares. Assim, a grade aqui proposta no deve ser confundida
com um modelo taxionmico que permitiria dizer: isto um rito, aquilo um
jogo, etc. Ela se quer, antes de tudo, como uma caixa de ferramentas para a
anlise de fenmenos (qualquer que seja o nome que lhe seja dado) nos quais
intervenha a articulao de uma pluralidade de interaes diferentes, como
o caso, por exemplo, no somente de muitos jogos, espetculos e rituais, mas
tambm da prtica teraputica.
A relao teraputica: o contexto do trabalho de terapia
A fim de identificar o contexto relacional que preside a consulta teraputica
sistmica, vou tomar como ponto de partida o que me parece constituir a in-
terao elementar caracterstica da relao teraputica que se instaura entre
o terapeuta e seu cliente. Trata-se, bem evidentemente, de uma caricatura, de
inspirao rogeriana (Rogers, 1951), mas que teria o mrito de ressaltar certas
propriedades distintivas dessa situao que todo mundo reconhece como mui-
to mais complexa e sutil.
A troca que precipita e resume a passagem dos participantes na relao te-
raputica seria, grosso modo, a seguinte:
O cliente: Eu no sei No estou bem Estou triste...
O terapeuta: Voc se sente triste
Por razes que no so evidentes, a resposta do terapeuta que, no entanto,
no faz seno repetir o que lhe comunica o cliente, sob uma forma ligeiramen-
76
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 76 25/07/2013 09:08:46
para um modelo antropolgico da prtica psicoteraputica
te diferente, tem efeitos para alm do que se poderia normalmente esperar. De
modo geral, ela impulsiona o cliente a dizer outras palavras para o terapeuta,
no somente mais abastecidas, como tambm mais detalhadas e mais concre-
tas que as precedentes, marcando o verdadeiro comeo de seu trabalho tera-
putico em comum. Essa troca totalmente mnima, reiterada diversas vezes de
diversos modos no curso das sesses que se seguiro, ao mesmo tempo engata
e recapitula a relao particular que fornece as condies necessrias para ope-
rar o conjunto de tcnicas de que dispe o terapeuta. Tm, desse ponto de vista,
uma importncia primordial. Ensaiemos, ento, uma forma de dissec-la luz
da Figura 1, centrando a ateno no nos enunciados do cliente e do terapeuta
(chegaramos rapidamente ao fim), mas nos pressupostos pragmticos que su-
bentendem sua enunciao.
Notificao
Na medida em que o terapeuta no tem acesso direto aos estados emocionais e
intencionais de seu cliente, suas respectivas palavras no se situam num mes-
mo plano. Essa distncia tanto mais destacada, para um e para outro, na me-
dida em que o contedo proposicional de seus enunciados o mesmo (o cliente
se sente triste). No que diz respeito ao cliente, a situao parece ser suficiente-
mente clara. Seus propsitos pressupostamente (tanto para ele quanto para o
terapeuta) exprimem algo de seu estado emocional e intencional: ele se sente
triste (ou com raiva, ou frustado, ou descontente, ou, ainda, outra coisa) e o
explicita. Sua tomada de palavra , logo, subentendida por uma pressuposio
de notificao tal qual foi definida acima (Disposies Aes). totalmente
diferente para o enunciado do terapeuta.
Exibio
O terapeuta, por seu lado, encontra-se numa situao semelhante, primeira
vista, quela de um ator no curso de um espetculo: suas palavras no buscam
explicitar seus prprios estados emocionais e intencionais. Alis, o fato de que
seus propsitos digam respeito ao que ele mesmo no pode sentir (o que sente
o cliente), atesta, claramente, para os dois participantes, que sua interveno
no visa de todo exprimir sentimentos. Por suas palavras, o terapeuta busca
77
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 77 25/07/2013 09:08:46
michael houseman
muito mais provocar estados emocionais e intencionais no outro, o cliente.
Desse ponto de vista, suas palavras so animadas pelo que chamo de uma pres-
suposio de exibio (Disposies |Aes). O contedo exato das emoes
e intenes que as palavras do terapeuta induziro no cliente permanece gran-
demente indeterminado na medida em que isso depender em grande parte do
vivido particular da pessoa em questo. Entretanto, o importante no se situa
aqui, mas alhures, no mecanismo dessa induo, que nos obriga a considerar
de mais perto a complexidade encerrada na premissa de exibio, que carac-
teriza a interveno do terapeuta.
Continuemos a analogia com o teatro. Um bom ator no deve confundir
seus prprios afetos e motivaes com os estados emocionais e intencionais
associados personagem que ele incarna. Mas no deve igualmente se limitar
a reproduzir em cena as atitudes e os gestos que corresponderiam a esses esta-
dos. O ator consegue evitar essas duas armadilhas trazendo aos espectadores
uma representao personalizada de seu papel, na qual sua habilidade tcnica
e sua prpria experincia (teatral e cotidiana) esto estreitamente conjugadas.
a mesma coisa com o terapeuta, contudo com uma uma toro significativa
que corresponde diferena que separa o contexto interativo da consulta te-
raputica daquele do espetculo. Enquanto que no caso do espetculo o com-
portamento do ator e do espectador supostamente respondem a uma condio
pragmtica de exibio; na consulta teraputica, somente o comportamento
do terapeuta responderia ao princpio de exibio, o cliente agiria segundo o
da notificao.
Assim como o ator, o terapeuta deve guardar suas distncias relativamente
s atitudes espontneas que possa ter em relao ao cliente e aos propsitos
deste, distinguindo entre suas reaes pessoais e o personagem que ele assu-
me diante do cliente enquanto profissional. Um terapeuta que se comportasse
simplesmente, ou mesmo principalmente, em funo do que sentisse neste
momento seria (no melhor) um amigo, e no um terapeuta. Ao mesmo tempo,
o terapeuta deve animar suas palavras e suas atitudes de um sentir verdadeiro,
sem o qual deixa de ser um interlocutor credvel para o cliente, que por seu
turno est perfeitamente consciente de que o terapeuta dotado de uma sensi-
bilidade que lhe prpria. Como o terapeuta responde a esta dupla exigncia?
Partindo de elementos dspares que lhe fornece o cliente (no estou bem,
78
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 78 25/07/2013 09:08:46
para um modelo antropolgico da prtica psicoteraputica
estou triste), ele se faz uma representao, forosamente muito parcial, da
situao emocional e intencional do cliente (que est triste e estima que esse
estado de coisas insatisfatrio). essa representao da situao do cliente
que o terapeuta restitui ento ao cliente, apelando, em primeiro lugar, a uma
habilidade tcnica vinda, quase que automaticamente, de sua formao e de
sua prtica, mas tambm personalizando essa restituio, isto , modulando-a
em funo de sua prpria experincia (em terapia e na vida cotidiana), a qual
forosamente diferente da de seu cliente. Ora, essa representao que prope
o terapeuta ao cliente se distingue, em vrios pontos, da que apresenta o ator
aos espectadores. Em primeiro lugar, ela tem como objeto no a situao do
terapeuta, mas a do prprio cliente. Em segundo lugar, de modo correlativo,
ela apresentada sob a forma de uma potencialidade, de um estado de fato
em potncia, isto , no por meio de uma srie de aes, como faz o ator, mas
atravs de um conjunto organizado de expectativas. O voc se sente triste do
terapeuta, enunciado a meio caminho entre o assertivo e o interrogativo, se-
ria um exemplo: retornando ao cliente seu prprio propsito e aportando-lhe
uma ligeira decalagem pelo tom, pelo ritmo, pela reformulao (o cliente no
mais triste, mas se sente triste), (SHAZER; MILLER, 2000) ou simplesmente
pelo fato de que o enunciador no mais o mesmo , o terapeuta apresenta
ao cliente, sob o modo da expectativa, uma matriz experiencial original, ao
mesmo tempo em consonncia com o vivido do cliente e animada pelas dispo-
sies pessoais do prprio terapeuta.
Pode-se dizer do ator que, por meio de aes que constituem uma apresen-
tao de sua personagem, ele tenta impor aos espectadores sua representao
pessoal do papel que ele encena. Em contrapartida, o terapeuta, por meio de re-
aes que compem uma apresentao em oco de sua representao pessoal
do cliente , busca solicitar ao cliente uma nova ao (outras palavras dirigidas
ao terapeuta, por exemplo). Nesta perspectiva, a eficcia do espetculo, que co-
mumente glossada como uma identificao do espectador com o persona-
gem, consistiria na emergncia, no espectador, de uma experincia em oco,
que apela s suas prprias emoes e intenes, que responde representao
personalizada em cheio que lhe comunica o ator. De maneira similar, mas
orientada de modo diferente, a eficcia do processo de empatia ou de afilia-
o (Minuchin, 1974) na interao teraputica residiria no aparecimento, no
79
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 79 25/07/2013 09:08:46
michael houseman
cliente, de uma experincia em cheio, que responde representao perso-
nalizada em oco dele mesmo que lhe traz o terapeuta.
A eficcia da apresentao espetacular como a da consulta teraputica
repousa, em grande parte, em um processo de desdobramento virtual. O ator,
vimos, , ao mesmo tempo, ator e papel, e uma exibio em cheio dessa co-
-presena que induz no espectador, sob a forma de desdobramento correspon-
dente, mas em oco, um novo vivido afetivo. De modo anlogo, o desdobra-
mento em oco que apresenta o terapeuta (ele , ao mesmo tempo, indivduo
e terapeuta; pessoal e impessoal; quer, ao mesmo tempo, mudar e no mudar
o cliente) apela, por parte do cliente, um desdobramento complementar. Mais
precisamente, o terapeuta incita o cliente a assumir em cheio, isto , por atos,
uma nova perspectiva sobre si mesmo. Essa analogia ressalta que h entre o
teatro e a terapia uma diferena suplementar. No caso do espetculo, o carter
duplo do ator abertamente confessado (assim se apreciar, por exemplo, o
modo de um desempenhar um tal papel), enquanto que o desdobramento do
espectador mantido em silncio. Em compensao, na consulta teraputica
o inverso: o desdobramento do terapeuta calado e o desdobramento do
cliente que objeto de uma ateno explcita. De fato, o objetivo principal da
interveno teraputica levar o cliente, utilizando como marco a representa-
o em vazio de si mesmo que lhe comunica o terapeuta, a se ver como um
outro, isto , a admitir a possibilidade de vrios pontos de vista de si mesmo e,
assim, a se apreciar como potencialmente plural. Em outros termos, atravs
de uma delegao que o cliente faz ao terapeuta de sua prpria reflexibilidade
que a viso, at ento plana ou transparente, que o cliente tem de si mesmo e
de sua situao pode comear a adquirir espessura. somente nessa condio
a possibilidade que ele poderia ter de ser diferente, mas mantendo-se fiel a si
mesmo que o cliente pode aceitar a eventualidade de uma mudana, razo
de sua ida consulta.
O trabalho de terapia consiste em explorar, atravs de diversos dispositivos,
os potenciais de escolha e de movimento que introduz essa dupla perspectiva
que instaura a relao teraputica. O estabelecimento dessa relao foi prepa-
rado, vimos, pela participao do cliente e do terapeuta em suas respectivas
redes sociais. O cliente notifica ao terapeuta a viso comprida e unidimen-
sional que ele tem de si mesmo e sobre o terapeuta. O terapeuta, por meio de
80
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 80 25/07/2013 09:08:46
para um modelo antropolgico da prtica psicoteraputica
uma exibio que faz intervir em sua prpria posio desdobrada (cultivada
no curso de encontros profissionais), toma apoio sobre essa viso do cliente
para abrir-lhe a possibilidade de uma multiplicidade virtual.
Esse contexto interativo que o cliente e o terapeuta partilham (notifica-
o de um, exibio do outro) no se limita psicoterapia. Ele se encontra
igualmente, com as inflexes e os graus de elaborao diferentes, em muitas
situaes que podemos qualificar como consulta teraputica: a visita a um
mdico ou uma consulta com um curandeiro tradicional ou uma vidente, por
exemplo. Desse ponto de vista, as particularidades da prtica psicoteraputica
deveriam ser buscadas, antes de tudo, na forma do trabalho teraputico que se
processa no seio desse contexto. Consideremos, agora, esse trabalho.
O trabalho teraputico: criar as condies da mudana relacional
O trabalho psicoteraputico consiste, em grande parte (mas evidentemente
no exclusivamente), na explorao de duas outras modalidades de intera-
o identificadas na Figura 1, mas que no so mobilizadas na construo da
relao teraputica: o EU, regido por um princpio de conformidade (Dispo-
sies | Aes), e o RITUAL, subentendido por uma condio de instru-
o (Disposies Aes). Refiro-me aqui ao que parece constituir os dois
dispositivos maiores da prtica psicoteraputica: de um lado, o jogo de fico,
e, de outro, a ritualizao da sesso.
Conformidade
Entendo por jogo de fico no somente as tcnicas associadas ao psicodra-
ma e ao sociodrama (Moreno, 1987), mas ao conjunto de procedimentos nos
quais o cliente expressamente convidado pelo terapeuta a fazer como se: a
se identificar a tal pessoa, a incarnar tal objeto, a se imaginar em tal situao,
etc.11 No quadro desses procedimentos, o cliente, adotando modos de dizer, de
11 Na perspectiva aqui avanada, entre as numerosas tcnicas utilizadas na psicoterapia, aquelas que
pertencem, de perto ou de longe, aos jogos de fico so: a colocao em atos (MINUCHIN; FISHAM, 1981);
a esculturao (DUHL; KANTOR; DUHL, 1973); a questo do milagre e a utilizao de escalas (BERG; MILLER,
1992); a busca de excees (DE SHAZER, 1991); o questionamento circular (SELVINI-PALAZZOLI et al., 1980);
a prescrio de tarefas teraputicas (ANDOLFI, 1982); diversos procedimentos que se apoiam na hipnose
81
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 81 25/07/2013 09:08:46
michael houseman
agir e de pensar, que contrastam com aqueles de sua experincia habitual, en-
contra-se virtualmente desdobrado. Ele introduz, inevitavelmente, um grau de
no congruncia entre os atos que realiza no curso do jogo de fico e suas
disposies intencionais e afetivas espontneas. Mesmo quando se trata de
desempenhar o seu prprio personagem, o cliente, prestando-se ao que ex-
plicitamente posto como uma simulao, toma uma distncia vis a vis de seus
sentimentos e motivaes imediatas: ele se esfora para agir como se fosse ele
mesmo. verdade que as regras de tais jogos de fico no so nada evidentes
para definir. Mas pouco importa, pois, de fato, conta, antes de tudo, a condio
pragmtica que preside os jogos, a da conformidade (Disposies | Aes):
o comportamento do cliente no vivido por ele mesmo nem pelo terapeuta
como puramente a expresso dos estados emocionais e intencionais que po-
dem haver nesse momento, mas como uma resposta igual a um princpio que
lhe exterior, a saber, o de ser um outro ele mesmo.
Desse ponto de vista, o jogo de fico aparenta-se ao jogo estrito senso, tal
qual foi descrito anteriormente: as aes e os dizeres dos participantes, ainda
que animados por seus estados afetivos privados, devem obedecer, ao mesmo
tempo, s convenes que impe o trabalho teraputico. O que no vale dizer
que o vivido afetivo e intencional do cliente no tenha lugar no jogo de fico.
Ao contrrio: como no caso dos jogos no teraputicos, a tenso que anima
a diferena entre, de um lado, o que faz e diz o cliente jogador, respeitando as
convenes inerentes ao procedimento teraputico, e, de outro lado, seu sentir
pessoal no menos presente, que torna o jogo interessante, isto , que lhe d
sua fora de evocao e sua capacidade de emocionar. De resto, em regra geral,
essa tenso que faz eclodir o jogo de fico: so as emoes e as intenes
do cliente (ou dos clientes), inflectidas em um senso original por uma condi-
o pragmtica excepcional (a de fazer como se), que terminam por assumir a
dianteira. De fato, o resultado esperado do jogo que a simulao termine por
se dissolver, de algum modo, sob a presso dos afetos e intenes sentidas pelo
cliente, dissoluo que se realiza sob a forma de uma sbita revelao, de uma
eriksoniana (ERIKSON; ROSSI; ROSSI, 1976), a escritura de cartas a si mesmo e consultas entre diferentes
componentes da pessoa (DOLAN, 1991); a construo de narrativas alternativas (WHITE; EPSTON, 1990); a
utilizao da cadeira vazia (PERLS; HEFFERLINE; GOODMAN, 1951); e muitos outros, ainda.
82
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 82 25/07/2013 09:08:46
para um modelo antropolgico da prtica psicoteraputica
exploso de raiva, de um colapso, de um inesperado sentimento de felicida-
de, etc. O jogo de fico interrompido pois as aes do cliente no so mais
regidas pelo princpio de conformidade, mas pelo da notificao: o cliente
retorna, por assim dizer, ao ponto de partida, a ele mesmo, mas modificado
pela nova experincia fornecida pelo jogo de fico.
Assim, para que um jogo de fico seja bem sucedido, preciso que fracasse
enquanto jogo: o que comea como uma simulao deve cair na vida cotidiana.
Em suma, o dispositivo do jogo de fico consiste em, de algum modo, fazer
com que o cliente, a partir das condies de JOGO (Disposies | Aes) se
encontre, por si prprio, em condies renovadas de INTERAO ORDINRIA
(Disposies Aes).
Desse ponto de vista, o jogo de fico considerado nesse amplo senso se
ope utilmente ao jogo sem fim imaginado por Watzlawick, Beavin e Jackson
(1972, p. 236-239) como paradigma dos impasses de comunicao frequente-
mente encontrados no curso de interaes comuns. A regra do jogo sem fim
consiste em substituir sistematicamente uma negao a uma afirmao e vice-
-versa, de modo que nenhuma mensagem no possa se situar fora do jogo. Em
uma situao semelhante, dizem os autores, logicamente impossvel de emi-
tir uma mensagem que permitiria sair do jogo, por isso a necessidade de uma
interveno exterior (do terapeuta): Paremos o jogo ser entendido como
Continuemos o jogo, e Continuemos o jogo ser percebido no como uma
meta mensagem (relativa ao jogo), mas como rudo ou como uma maneira
suplementar de continuar a jogar. Por outro lado, no jogo de fico, que tem
lugar no contexto de notificao/conformidade que caracteriza a consulta
teraputica e que, por isso, integra uma relao com um exterior que o tera-
peuta ele mesmo, a regra (suponhamos que) , ao contrrio, destinada a ser
infringida do interior, no em virtude de um raciocnio lgico, mas em razo
do surgimento de emoes e/ou de intenes novas que esse jogo ocasiona. No
primeiro caso, os participantes, ante iluso de uma escolha possvel, esto
sujeitos a uma impossibilidade arrazoada de mudana; no segundo, a experi-
ncia de afetos e de intenes inesperados que, nela mesma, fornece ao cliente
a prova da mudana e, logo, de sua capacidade de escolher.
83
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 83 25/07/2013 09:08:46
michael houseman
Instruo
O segundo dispositivo essencial da prtica psicoteraputica, que engloba, de
algum modo, o primeiro, a ritualizao da sesso. Por ritualizao da sesso
entendo o conjunto de constrangimentos ao que instaura o terapeuta e que
preside as conversas entre ele e seu cliente: a periodicidade, a durao e o lugar
da consulta, as tarefas a realizar, etc. De fato, como observa com propriedade
Miermont (1987, p. 453), O quadro mesmo (sic) de uma psicoterapia ou de uma
terapia de famlia j um ritual completo. Ora, me parece que um dos aspec-
tos fundamentais dos fenmenos de identificao (em amplo sentido) que se
estabelecem entre o cliente e o terapeuta no curso da terapia consiste precisa-
mente em uma evoluo de atitude vis a vis desses elementos de ritualizao.
Quando das primeiras sesses, esses componentes do quadro teraputico
so vividos pelo cliente como imposies, estipulaes formais um pouco ar-
tificiais, mas que no deixam de induzir nele um conjunto de emoes e de
especulaes cuja natureza exata depender, em parte, de seu prprio vivido
pessoal. O cliente encontra-se, assim, em uma situao semelhante quela do
rito, na medida em que, como no rito, no so os atos que procedem das suas
disposies privadas, mas, antes, as disposies privadas que emergem em
funo dos atos que sua participao na terapia impe realizar. Em outros ter-
mos, as interaes do cliente com o terapeuta relativamente aos protocolos da
consulta sero subentendidos pelo que designei como uma condio de ins-
truo (Disposies Aes). Contudo, medida que as sesses se sucedem,
essa atitude como que duplicada por uma outra: os elementos previamente
vividos como restries quase arbitrrias, impostos do exterior, tomaro, de
mais em mais, o ar de arranjos cujo acionamento em conjunto com o terapeuta
seria a justa medida da interao que o cliente estabelece com o terapeuta. As-
sim, endurecendo um pouco o ato, a remunerao parecer ao cliente menos
como um pagamento exigido por um servio prestado do que como um meio
de gerir sua relao com o terapeuta, de guardar suas distncias ou de se ligar
a ele, ou ainda como uma maneira de organizar suas despesas. As restries
espaciais e temporais da terapia tornar-se-o de mais em mais marcas teis
em uma ordenao de um lugar que o cliente pode reconhecer como aquele que
lhe convm. As tarefas que se espera que ele realize sero vividas menos como
obrigaes artificiais do que como oportunidades para explorar e melhor com-
84
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 84 25/07/2013 09:08:46
para um modelo antropolgico da prtica psicoteraputica
preender sua situao pessoal. Ora, apropriando-se deste modo dos protocolos
teraputicos, o cliente testemunha em si mesmo, tanto quanto no terapeuta,
sua aptido para alterar sua perspectiva e experimentar experincias originais.
Esta evoluo torna-se particularmente evidente quando o cliente, sem neces-
sariamente faz-lo expressamente, age de encontro aos protocolos: quando fal-
ta a consulta, quando senta-se na cadeira ocupada habitualmente pelo analista,
quando se esquece de pagar, quando no realiza a tarefa que lhe foi atribuda
ou a substitui por outra, etc. Semelhante s modificaes no comportamento
do cliente que surgem fora das sesses, todos esses atos falhos sero inter-
pretados, tanto pelo cliente quanto pelo terapeuta, como indcios de mudanas
reais que intervm nos estados emocionais e intencionais que alimentam o
cliente, no somente em relao ao terapeuta e ao trabalho teraputico, mas
tambm vis a vis das pessoas e das circunstncias de sua vida cotidiana.
Deste modo, medida que a terapia avana, os atos do cliente em relao
s instrues protocolares, que elas se distanciem ou no, sero apreciadas
tanto por ele como pelo terapeuta, de menos em menos como prescries
que lhe foram impostas de modo indiferente e de mais em mais como a ex-
presso de suas prprias motivaes e disposies afetivas. Em outros termos,
passa-se da ritualizao banalizao: o que comea como um ritual assume
progressivamente as qualidades de uma interao comum. O princpio de
instruo(Disposies Aes) cede lugar ao da notificao (Disposies
Aes). Com esse malogro progressivo da ritualizao da sesso enquanto tal, o
cliente se encontra, assim, ainda uma vez, por seu prprio feito, remetido ao
seu ponto de partida, mas com uma diferena essencial: ele no mais total-
mente o mesmo.
Na perspectiva aqui esboada, o trabalho teraputico cria as condies da
mudana relacional por meio de uma dupla inverso. A primeira, realizada,
notadamente, atravs dos jogos de fico que falham enquanto jogo, corres-
ponde a uma mudana de valncia do elo entre aes perceptveis e disposi-
es emocionais e intencionais: a passagem de uma injuno negativa que
cobre esse elo a uma injuno positiva (de Disposies | Aes Disposi-
es Aes). A segunda inverso, mediada pelos protocolos de consulta que,
na viso do cliente, perdem mais e mais seu carter ritualizado, equivale a
uma inverso de orientao do elo entre aes e disposies (de Disposies
85
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 85 25/07/2013 09:08:46
michael houseman
Aes Disposies Aes). Deste modo, novas condies de interao
comum so recompostas a partir da derrocada, pelo prprio cliente, dos pres-
supostos pragmticos que regem as duas outras modalidades de interao e
de representao, que so o jogo e o ritual. O trabalho do terapeuta forneceu
ao cliente as condies que lhe permitem operar essa dupla inverso. Ora,
esse trabalho, e a atitude do cliente que esse trabalho pressupe, a saber, a de
bem querer engajar-se temporariamente em atividade ldicas e ritualizadas
voltadas ao fracasso enquanto tais, no possvel seno em razo do acordo
que existe entre o cliente e o terapeuta relativo natureza muito particular
do contexto que preside o seu encontro: o comportamento de um, guiado por
um pressuposto de notificao, participaria da interao comum, enquanto
que o comportamento do outro, comandado por um princpio de exibio,
pertenceria ao espetculo. Esses diversos elementos da prtica teraputica es-
to representados na Figura 2: o eixo modificao/exibio, que preside a
instaurao da relao teraputica e os deslocamentos mediados pelo (a) jogo
de fico e pela (b) ritualizao da sesso.
Figura 2 Em cinza: o eixo modificao/exibio
Concluso
Inscrevendo-me de encontro s aproximaes sugestivas, mas frequentemente
pouco aproximativas, entre a psicoterapia e o ritual, tentei propor um certo n-
86
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 86 25/07/2013 09:08:47
para um modelo antropolgico da prtica psicoteraputica
mero de perspectivas antropolgicas sobre a prtica psicoteraputica, que foi
considerada como capaz de intervir em trs contextos relacionais:
1. o enquadramento que representa a participao do cliente e do terapeuta em
suas respectivas redes sociais;
2. a relao teraputica que se estabelece entre o cliente e o terapeuta quando de
seu encontro; e
3. os dispositivos acionados no curso do trabalho teraputico que fornecem ao
cliente as condies da mudana relacional.
Esses trs contextos so imbricados uns nos outros. De um lado, os dis-
positivos protocolares do jogo de fico e de ritualizao da sesso, assim
como a recomposio das condies de interao comum, a qual eles podem
alcanar, supem a prvia instaurao de uma condio pragmtica especfica,
a relao teraputica, aqui descrita como uma articulao entre os princpios
de notificao e de exibio. De outro lado, o estabelecimento dessa relao
teraputica , ela mesma, preparada, de um lado, pelas interaes anteriores
do cliente com seus prximos, interaes que favorecem um certo achatamen-
to das expectativas do cliente em relao ao terapeuta e, de outro, pela partici-
pao do terapeuta em reunies com colegas, participao que favorece uma
atitude virtualmente desdobrada do terapeuta vis a vis de seus eventuais clien-
tes. Considerando esses trs nveis contextuais, tentei mostrar em que medida
a prtica teraputica bem mais complexa do que se pode entender por ritual,
jogo, espetculo ou interao comum: uma articulao particular dessas
diferentes modalidades de interao que lhe do uma forma e uma lgica distin-
tas.
Deve ser evidente que certos aspectos dessa anlise se aplicam igualmente,
com mais ou menos felicidade, a diversos tipos de terapia. Desse ponto de vis-
ta, seria pela considerao de variaes deste esquema de base que seria conve-
niente situar os modelos teraputicos divergentes uns em relao aos outros:
as diferentes modalidades pelas quais eles acionariam os jogos de fico e a
ritualizao da sesso; as diversas formas que tomam a articulao entre os
pressupostos pragmticos de notificao (do lado do cliente) e de exibio
(do lado do terapeuta) no curso da consulta; as propriedades institucionais e
sociolgicas que, em um e no outro caso, caracterizam as redes sociais nas
quais participam clientes e terapeutas. Contudo, um tal trabalho comparativo
87
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 87 25/07/2013 09:08:47
michael houseman
exige que seja reconhecida interao teraputica um certo nmero de qua-
lidades especficas. A ambio deste estudo foi a de dar um primeiro passo
antropolgico nesse sentido.
Referncias
Andolfi, A. La thrapie avec la famille. Paris, ESF, 1982.
Bell, C. Ritual: perspectives and dimensions. New York: Oxford University Press, 1997.
Berg, I. Kim.; Miller, S. D. Working with the problem drinker: a solution-focused
approach. New York: Norton, 1992.
Cabi, M. C.; Isebaert, L. Pour une thrapie brve: le libre choix du patient comme
thique en psychothrapie. Ramonville Saint-Ange: Editions Ers, 1997.
Cabi, M. C.; Isebaert, L. La thrapie systmique brve centre sur les solutions.
Thrapie Familiale, v. 21, n. 3, 2000. p. 231-231.
Dolan Y. Resolving sexual abuse: solution-focused therapy and eriksonian hypnosis
for adult survivors. New York: Norton, 1991.
Duhl, F. J.; Kantor, D.; Duhl, B. S. Learning space and action in family therapy:
a primer of sculpture. In: Bloch, D. A. (d.). Techniques of family psychotherapy: a
primer. New York: Grune and Stratton, 1973.
Erikson, M. H.; Rossi, E. L.; Rossi S. I. Hypnotic realities: the induction of clinical
hypnosis and forms of indirect suggestion. New York: Irvington Publishers, 1976.
Gennep, A. Van. Les rites de passage. Paris: Emile Noury, 1909.
Goffman, I. Frame analysis. New York: Harper and Row, 1974.
___________. The presentation of self in everyday life. Garden City: Doubleday, 1959.
Grice, P. Logique et communication. Communications, v. 30, 1979. p. 57-72.
Haley, J. Uncommon therapy: the psychiatric techniques of milton erickson. New
York: Norton, 1973.
Hart, O. van der. Rituals in psychotherapy: transition and continuity. New York:
Irvington Publishers, 1983.
Houseman, M. Is this play ? hazing in French Preparatory Schools. Focaal European
Journal of Anthropology, v. 37, 2001. p. 39-48.
___________. Painful places: ritual encounters with ones homelands. Journal of the Royal
Anthropological Institute (N. S.), v. 4, n. 3, 1998. p. 447-467.
___________. La percezione sociale delle azioni rituali. Ethnosistemi, n. 7, 2000. p. 67-74.
___________. Quelques configurations de la douleur. In: Hritier, F. (d.) De la violence
II. Paris: Editions Odile Jacob, 1999. p. 77-112.
88
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 88 25/07/2013 09:08:47
para um modelo antropolgico da prtica psicoteraputica
___________. Quest ce quun rituel? Lautre, Cliniques, cultures et socits, v. 3, n. 3, 2003. p.
533-538.
Houseman, M.; Severi, C. Naven or the other self: a relational approach to ritual
action. Leiden: Brill Publications, 1998.
Humphrey, C.; Laidlaw, J. The archetypal actions of ritual: a theory of ritual
illustrated by the jain rite of worship. Oxford: Clarendon Press, 1994.
Kobak, R. R.; Waters, D. B. Family therapy as a rite of passage: plays the thing.
Family Process, v. 23, n. 1, 1985. p. 89-98.
Lazarus, A. A. The practice of multimodal therapy. Highstown: McGraw Hill, 1981.
Leach, E. R. Ritual. In: Sills, D. R. (d.). The International Encyclopedia of the Social
Sciences, New York: Macmillan, v. 13, 1968.
Lvi-Strauss, C. Le regard loign. Paris: Plon, 1983.
Miermont, J. (Dir.). Dictionnaire des thrapies familiales. Paris: Payot, 1987.
Minuchin, S. Families and family therapy. Cambridge: Harvard University Press, 1974.
Minuchin, S.; Fishman, C. Family therapy techniques. Cambridge: Harvard
University Press, 1981.
Moreno, J. L. Psychothrapie de groupe et psychodrame. Paris: P.U.F., 1987.
Norcross, J. C. (d.) Handbook of Eclectic Psychotherapy. New York: Brunner/Mazel,
1986.
Perles, F.; Ferrline, R. F.; Goodman, P. Gestalt therapy: excitement and growth in
the human personality. New York: Dell Publishing, 1951.
Roberts, J. Setting the frame: definition, functions and typology of rituals. In:
Imber-Black, E.; Roberts J.; Whiting, R. (ds.) Rituals in families and family
therapy, New York: Norton, 1988. p. 47-83.
Rogers, C. Client-Centered Therapy. Houghton Boston: Mifflin, 1951.
Searle, J. R. Les actes de langage: essai de philosophie du langage. Paris: Hermann,
1972.
Selvini-Palazzoli, S. et al. Paradoxes et contre-paradoxes. Paris: ESF, 1980.
SEVERI, C. Memory, reflexivity and belief: reflections on the ritual use of language.
Social Anthropology, v. 10, n. 1, p. 23-40. 2002.
SHAZER, S de. Putting difference to work. New York: Norton, 1991.
SHAZER, S. de; MILLER, G. La construction des motions: le langage des sentiments
dans le thrapies brves centres sur la solution des problmes. Thrapie Familiale, v.
21, n. 3, p. 233-252. 2000.
STANISLAVSKI, C. An Actor Prepares. Londres: Geoffrey Bles Ltd, 1937.
89
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 89 25/07/2013 09:08:47
michael houseman
WATZLAWICK, P.; BEAVIN, J. H.; JACKSON, D. D. Une logique de la communication.
Paris: Editons du Seuil, 1972.
WHITE, M. Ritual of inclusion. an approach to extreame uncontrolled behaviour in
children and young adolescents. Dulwich Centre Review, p. 20-27. 1986.
WHITE, M.; EPSTON, D. Narrative means to therapeutic ends. New York: Norton, 1990.
WHITING, R. A. Guidelines to designing therapeutic rituals, In: IMBER-BLACK, E.;
ROBERTS, J.; WHITING, R. (Eds.). Rituals in families and family therapy, New York:
Norton, 1988, p. 84-112.
90
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 90 25/07/2013 09:08:47
O modelo coreogrfico1
Franois Laplantine
No se pode dizer do corpo se ele isto ou aquilo, pois ele se transforma con-
tinuamente e j no mais agora, no momento em que falo, aquilo que era h
alguns segundos atrs. Tentar descrever, contar ou at filmar o movimento do
corpo em perptuo devir adotar um horizonte de conhecimento que s pode
ser aquele de uma antropologia negativa no sentido de Adorno. recorrer, ou
melhor, inventar uma escritura do tempo e do mltiplo. Mltiplo compreendi-
do no significado que lhe foi dado por Gilles Deleuze (1994, p. 5): Le multiple, ce
nest pas seulement ce qui a beaucoup de parties, mais ce qui est pli de beaucoup
de faons.2
Dobras
Esta noo de multiplicidade assim compreendida (e no somente de pluralidade,
menos ainda de pluralismo) me parece particularmente fecunda para nos orien-
tarmos rumo quilo que chamamos hoje de antropologia do corpo. Comea-se a
perceber isso interrogando os diversos significados de pli (dobra), termo prove-
niente do latim plicare, que significa literalmente dobrar sobre si mesmo uma
matria flexvel. Este termo deu origem aos verbos plier (dobrar) e ployer (flexio-
nar). Plier (que se encontra nas palavras rplica e cmplice) uma atividade
fsica. Estar submetido a um suplcio consiste em dobrar os joelhos, assim como
o ato de suplicar consiste em curvar-se e prosternar-se frente a algum. Quanto
ao termo ployer, que etimologicamente significa estender algo previamente do-
1 Texto original: Le modle chorgraphique. In:______. Le Social et le Sensible: introduction une Anthropologie
Modale. Paris: Tradre, 2010. Traduo: Xavier Vatin
2 Traduo: O mltiplo no somente aquilo que tem muitas partes, mas aquilo que dobrado de numerosas
maneiras.
91
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 91 25/07/2013 09:08:47
franois laplantine
brado e deu origem aos verbos dployer (desdobrar) e employer (empregar), ini-
cialmente era usado para designar os movimentos do corpo.
Plier e ployer implicam uma flexo. Supem uma flexibilidade ou uma elas-
ticidade ao menos potencial. S se pode dobrar ou flexionar aquilo que flex-
vel. Envolvem atividades que consistem em flexionar, inclinar, refletir, curvar
ou at torcer. Efetuam-se em um movimento de toro, at mesmo de contor-
o do corpo ou do pensamento em andamento, pois h uma relao estreita
entre o andar e o pensamento que, segundo Nietzsche, se realiza andando.
Existe uma diferena entre o plural e o mltiplo. O plural (do latim plus, que
deu pleno e plenitude) designa somente uma grande quantidade de elemen-
tos dentro de uma totalidade dada, enquanto um dos significados do mltiplo
compreende a atividade que consiste em formar numerosas dobras de manei-
ra cada vez distinta. O plural procede de uma lgica quantitativa e aritmti-
ca: a lgica cumulativa de signos se adicionando a outros signos, enquanto a
multiplicidade no pode ser compreendida dentro deste modelo de adjuno
de elementos numerosos, formando uma totalidade. Ela no procede da jus-
taposio ou da coexistncia de partes constitutivas de um conjunto, mas
de uma atividade de modulao ou, s vezes, de modelagem. O plural uma
operao de composio ou de montagem de elementos diversos ou idnticos
por adjuno, podendo alcanar a saturao (o que no pode de forma alguma
dar conta de uma atividade que envolve, por exemplo, uma tenso muscular).
O mltiplo assim entendido no consiste em adicionar, nem mesmo em des-
locar, elementos de um lugar para o outro, mas consiste, em um movimento
do gesto, do andar ou da dana, em formar, deformar, transformar, ou seja, em
criar formas sempre novas. A multiplicidade no acumulao (de signos ou
de bens), mas sim tenso. No tanto totalidade (de elementos assemblados,
compostos, recompostos) quanto intensidade e ritmicidade. Ela requer um
modo de conhecimento no mais estrutural, mas modal, e, no que se refere
mais precisamente ao corpo, um modo de conhecimento no mais anatmico
nem mesmo fisiolgico, mas, como veremos em breve, coreogrfico.
Se o mltiplo distinto do plural, ele radicalmente oposto ao simples no
seu duplo sentido: aquilo que formado de um s elemento; aquilo que s
dobrado uma vez. simples aquilo que nico e autosuficiente no seu car-
ter homogneo e compacto. o que significa o verbo simplificar literalmente
92
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 92 25/07/2013 09:08:47
o modelo coreogrfico
fazer uma dobra s ou dobrar de uma s maneira , em oposio a complicar
e a complexo, designando mltiplas dobras ou maneiras mltiplas de dobrar.
Notemos, enfim, que, prximo s palavras derivadas do latim plicare, existe
plectare (que se encontra precisamente nos termos complexo ou perplexo), que
detm um significado eminentemente fsico: o gesto de tranar ou de entrela-
ar, ou ainda o encontro de dois corpos a se entrelaar.
O mltiplo envolve intensidades e modalidades, o que levanta a questo
do tempo. Existem dobras involuntrias. Umas de natureza geolgica, forma-
das de acidentes, ondulaes e movimentos orognicos de terreno. Outras
so fsicas e traam sobre a pele aquilo que chamamos de rugas. Todas resul-
tam de um trabalho que se realiza no tempo. Quanto s dobras voluntrias,
elas se realizam em um movimento, tambm temporal, como no gesto da
mo imprimindo uma flexo, mesmo mnima, ao papel (que amarrotado),
ao tecido (que amassado) ou at ao rosto (na atividade que consiste em fran-
zir as sobrancelhas).
Um pensamento antropolgico do corpo no pode ser um pensamento
do ser, mas do ser diferente (autrement qutre). Tambm no pode ser um
pensamento do uno, mas do mltiplo, no sentido acima definido. um pen-
samento que se elabora no movimento (mtabol, e no kinsis) da durao e
do devir. Implica sucessividade e no simultaneidade. No um pensamento
da concomitncia (de elementos reunidos em uma totalidade), mas da inter-
mitncia. Tambm incompatvel com os modelos tericos que procedem no
recorte de unidades de sentido e que tm por efeito uma estabilizao do sen-
svel, que se v desqualificado e autoritariamente reduzido quilo que no .
O corpo em si no nada ou melhor, continuar dizendo o corpo como
se tratasse de um conjunto de funes ou de superfcies idnticas a si mesmas
condenar-se a no dizer nada. Comea-se por aprender aquilo que ele quer
dizer (ou calar), prestando ateno s maneiras como ele vem sendo afetado:
aquilo que o comove, o toca, o abala, o fere, as formas como ele reage no ex-
pressivamente, mas performativamente quilo que o afeta. Ele pode gritar (de
medo, de alegria, de raiva), chorar, pular, tomar susto, girar em torno de si, aga-
char-se, encolher-se, torcer-se, estender-se, esticar-se, espreguiar-se. Assim
o andar de Popeye em Sanctuary, de Faulkner, que ora evoca algo metlico e
mecnico, ora um tipo de moleza elstica.
93
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 93 25/07/2013 09:08:47
franois laplantine
No existe, de fato, comportamentos corporais fora das experincias que
pertencem temporalidade. Estas podem ser extremamente devedoras do pas-
sado (por exemplo, no caso da fadiga), mas tambm flexionadas rumo a um fu-
turo (na angstia, o medo, a espera, a pacincia). No existe corporeidade em
si, mas atos oscilando entre a cmera lenta e o acelerado, atos susceptveis de
se repetir como tambm de se improvisar cada vez de maneira singular. Assim
o ato de correr. O sujeito pode se constranger, em uma extrema velocidade, a
esforos desesperados, como no final do filme Rosetta, dos Irmos Dardenne,
no qual a herona est literalmente sem flego. Pode ser levado em uma corrida
louca, como o jovem casal de Shadows, de Cassavetes, que foge no Central Park
ao ritmo das vibraes de uma msica de jazz de Charlie Mingus. Pode tambm,
como em The General, de Buster Keaton, atingir um estado alterado de consci-
ncia, quando, confrontado com a realidade, o protagonista literalmente ab-
sorvido pelo exterior. Este ltimo exemplo constitui sem dvida a crtica mais
bem sucedida do corpo reduzido s convenes de suas funes sociais.
Aquilo que importa para dizer o corpo em todos seus estados no so os
substantivos, mas os verbos e seus modos, podendo designar a preciso dos
gestos das mos cavando a cela na qual est sendo detido o tenente Fontaine
(em Un condamn mort sest chapp, de Bresson), ou, em um registro muito
diferente, a agitao dos movimentos dos personagens interpretados por Gena
Rowlands nos filmes de Cassavetes. Mais frequentemente confrontada pelos
assaltos de Ben Gazzara, a atriz resiste, se defende, gesticula, perde o flego, cai,
evanesce, ergue-se novamente. , neste cinema do ressentido (ressenti), atra-
vs de uma verdadeira luta fsica, que corpos a corpos so esboados, beijos
arrancados e que os personagens femininos comeam a abandonar-se antes
de retratar-se.
Historicamente submetido a injunes sociais sucessivas, o corpo sus-
ceptvel de entrar em resistncia. De fato, se ele bate o p, salta, se joga, se eleva,
pisoteia ou desfila, ele o faz a partir de modos de socializao aceitos ou proi-
bidos (aquilo que o antroplogo norte-americano Linton chama de patterns of
misbehavior). Mas dessas diferentes condutas, no se pode estabelecer um in-
ventrio de formas diferenciadas, podendo encontrar seu lugar dentro de uma
totalidade englobante. O corpo detalhado, dissecado, pronto para ser analisado,
em conformidade com um paradigma (o da funcionalidade e da instrumen-
94
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 94 25/07/2013 09:08:47
o modelo coreogrfico
talizao social ou, pelo contrrio, do desvio), corre o risco de parecer com o
resultado da operao de um mdico legista.
Corpo, paradigma e sintagma
Convm interrogar-se aqui sobre as relaes entre os dois sentidos do termo
paradigma: o sentido de Thomas Kuhn (1983) que designa um modelo episte-
molgico dominante e o sentido de mile Benveniste (1996), para distingui-lo
do sintagma. No sentido preciso da lingustica, um paradigma permite o estu-
do da organizao sintxica das palavras na lngua. Diz respeito s relaes do
todo com suas partes constitutivas (fonemas, morfemas, lexemas) e forma um
sistema dando lugar a uma anlise sincrnica. Ora, este sentido preciso, porm
estreito, do paradigma s diz respeito a enunciados nunca a modalidades de
enunciao. Dificilmente permite dar conta da espessura de nossos comporta-
mentos fsicos, notadamente as diferentes maneiras pelas quais o corpo pode
ser, por exemplo, escravizado ou, pelo contrrio, tentar libertar-se. As obriga-
es sociais e polticas exercidas sobre o corpo so particularmente insens-
veis na medida em que os indivduos as interiorizaram, terminando, assim, por
parecer naturais ou at inatas. Ora, este processo de represso/interiorizao
foge totalmente de uma abordagem que s considera o social como um siste-
ma de relaes entre signos preexistentes. Da mesma forma, o que pode dizer
uma anlise exclusivamente semiolgica quando se trata, na criao musical,
teatral, coreogrfica da Amrica Latina, de diferentes maneiras de atribuir no-
vamente todo seu lugar ao corpo-sujeito em pases onde, desde os primrdios
da conquista, este foi humilhado e s vezes at massacrado mais ainda em
reas em que este foi quase sistematicamente ignorado?
No estamos de forma alguma confrontados, atravs desses exemplos, por
relaes paradigmticas entre elementos da lngua, mas por relaes sintagm-
ticas semelhantes s que foram estudadas pela primeira vez por Ferdinand de
Saussure (2001, p. 170-177). As relaes sintagmticas no se efetuam na dis-
continuidade da lngua recortada abstratamente em uma pluralidade de unida-
des prvias (as palavras), mas na continuidade do fluxo da linguagem. O movi-
mento, e mais precisamente as mltiplas transformaes do corpo, podem ser
ento consideradas, como a frase, no mais como enunciados, mas como pro-
95
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 95 25/07/2013 09:08:47
franois laplantine
cessos de enuniao. Vale ressaltar que no se trata aqui de reduzir processos
fsicos a uma linguagem falada e ainda menos escrita. Mas de fato a impos-
sibilidade fsica, que nossa, de nos encontrarmos em dois lugares ao mesmo
tempo ou de pronunciar duas palavras, ou at dois sons ao mesmo tempo, que
nos leva a demonstrar uma certa humildade epistemolgica: as modulaes
sucessivas e progressivas da vida do corpo, que no para de se transformar, so
de uma natureza totalmente distinta das relaes formais entre certos elemen-
tos de uma totalidade. O corpo-sujeito, evoluindo de um estado para um outro,
requer um modelo de anlise (um paradigma, porm desta vez no sentido de
Kuhn) que no pode ser o da simultaneidade, como no estruturalismo, mas da
sucessividade, do tempo e da histria.
Aquilo que propomos, para nos orientarmos rumo a tal horizonte de co-
nhecimento, questionar a lgica paradigmtica (no sentido da lingustica
estrutural que, na sua reduo da linguagem lngua, tem como efeito uma es-
pacializao do pensamento), experimentando a fecundidade daquilo que ao
mesmo tempo sintagma (cadeia ou, mais exatamente, fluxo associativo) e pa-
radigma (no sentido de Kuhn): um modelo que qualificaremos de coreogrfico.
Topos e choros
A epistemologia clssica qual nos referimos ainda implicitamente tende a
pensar o social nos termos gregos de topos, e no de choros. muito mais uma
topografia do que uma coreografia. Topos o lugar, o local daquele que perma-
nece parado, ou ento s se desloca dentro de um espao estvel e finito. Para
enunciar o topos, recorre-se mais ao verbo ser (formado a partir do latim sedere,
que significa estar sentado) do que ao verbo estar. Choros designa tambm o
espao, porm mais especificamente o intervalo, supondo no somente a mo-
bilidade espacial como tambm a transformao no tempo. Il est difficile de pr-
ciser si lon doit passer de la notion de groupe de danseurs celle demplacement
prpar pour la danse, ou inversement.3 (CHANTRAINE, 1968, p. 1269)
3 Traduo: difcil definir se deve-se passar da noo de grupo de bailarinos quela de lugar preparado para
a dana ou vice versa.
96
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 96 25/07/2013 09:08:47
o modelo coreogrfico
A noo de coreografia (e no mais de topografia) tem a vantagem de nos
fazer entender (mas, em primeiro lugar, de nos fazer sentir, olhar, escutar) o
estar juntos do coro que designa, ao mesmo tempo, o lugar onde se dana e a
arte de danar. Chora este lugar em movimento no qual se elabora uma forma
de lao fsico. Mas, para apreender as nfimas modulaes do corpo em pro-
cesso de transformao, sua aptido a se tornar outro daquilo que era e, mais
precisamente ainda, a sentir a presena nele de tudo aquilo que vem dos ou-
tros, convm introduzir uma ltima noo: no somente chora, mas kairos, que
o instante em que no estou mais com os outros em uma relao de simples
coexistncia, mas em que comeo a estar alterado e transformado por eles.
Enquanto em uma abordagem topogrfica, pega-se, apodera-se de um ob-
jeto, em uma abordagem coreogrfica, e, mais especificamente, no tempo do
kairos, no tem mais objeto podendo ser considerado como um exterior radi-
cal. O tempo dos verbos e os verbos em si mesmos no so mais os mesmos:
no mais pegar, apanhar, apoderar-se, porm surpreender, estar surpreendido,
como no duende do flamenco. Kairos corresponde ao momento exato em que
renunciamos s fices do outro, do forasteiro e em que realizamos a expe-
rincia da estranheza.
No se pode construir uma antropologia do corpo em termos topogrficos,
por exemplo, de quadros (como costuma falar-se, em medicina, de quadros
nosogrficos), mas coreogrficos. Uma antropologia do corpo envolve um
pensamento da temporalidade atento s modulaes do sensvel. Um pensa-
mento da dana que no pode ser ressentimento, vingana, mas sim aprova-
o da vida. o motivo pelo qual, contra os discursos metafsicos e idealistas
desdenhosos de Scrates e de So Paulo que abominam o corpo, Nietzsche pre-
coniza uma outra linguagem. E esta outra linguagem, que j no mais a da
humilhao do corpo e da difamao do real, Zaratustra a anuncia danando.
Trata-se, portanto, de pensar o tempo no seu devir, porm justamente aqui
que surge a dificuldade, pois o tempo no divisvel e no se repete. Ele no se
presta a cortes buscando imobilizar o fluxo do movimento; Bergson sem d-
vida um daqueles que mais contribuiu para libertar o pensamento da reduo
ao espacial e ao slido e a questionar os esteretipos (stereo, em grego, significa
consolidar, tornar forte) do pensamento identitrio, espacial e esttico. Con-
tudo, isso no significa que se deva renunciar anlise. Ao inventar, no final
97
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 97 25/07/2013 09:08:47
franois laplantine
do sculo XIX, a cronofotografia, Marey conseguiu decompor o movimento. Ele
torna explcita a multiplicidade em ao dos passos, dos pulos, dos movimentos
coreogrficos. Ao contrrio do mtodo de Claude Bernard, que tem por efeito de
parar o tempo, Marey nos faz entender, possibilitando sua percepo visual, as
transies infinitesimais que compem o ato de andar.
Estudando o movimento, um pensamento terico e crtico do corpo e do
sensvel deve se colocar em movimento, o que no possvel se nos restrin-
gimos somente a uma concepo implcita ou explcita da linguagem baseada
na primazia do signo, na ideia de uma essncia do signo como signo de um
sentido, e mais ainda de um sentido nico. Ora, nas cincias humanas ainda
estamos confrontados pela persistncia de um modelo altamente dualista e
hierrquico que continue a opor o sentido e a linguagem encarada como
simples veculo utilitrio, servindo a transportar informao de um ponto
para o outro , o corpo sendo meramente o instrumento permitindo trans-
mitir ou expressar emoes.
Este paradigma, para conseguir abordar e fixar algo ntido, limpo, correto,
explcito, exato (em detrimento da preciso), privilegia a discontinuidade e a
estabilidade do signo, s prestando uma ateno secundria ao ritmo. Por isso,
tal paradigma convm ser interrogado novamente, na luz de um novo modelo
coreogrfico.
Referncias
BENVENISTE, E. Problmes de linguistique gnrale I. Paris: Gallimard, 1996.
CHANTRAINE, Pierre. Dictionaire tymologique de la langue grecque: hitoire des mots.
Paris: dtions Klincksieck, 1968.
DELEUZE, G. Le pli. Paris: Minuit, 1994.
KUHN, T. La structure des rvolutions scientifiques. Paris: Flammarion, 1983.
ROSETTA. Direo: Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne.Intrpretes: Emile Dequenne,
Anne Yernaux, Bernard Marbaix, Christian Neys, Christiane Dorva. Roteiro: Alain
Marcoen, Jean-Pierre Dardenne. Frana. 1999. 1 DVD (125 min).
SANCTUARY. Direo: Tony Richardson. Intrpretes: Lee Remick; Yves Montand;
Bradford Dillman. Roteiro: Ruth Ford. 1961. DVD (90 min). Baseado na novela
Sanctuary de William Faulkner.
SAUSSURE, F. de. Cours de linguistique gnrale. Paris: Payot, 2001.
98
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 98 25/07/2013 09:08:47
o modelo coreogrfico
SHADOWS. Direo: John Cassavetes. Intrpretes: Anthony Ray, Ben Carruthers,
Dennis Sallas, Hugh Hurd. Roteiro: John Cassavetes. 1959. 1 DVD (81 min).
UN CONDAMN Mort Sest chapp. Direo: Robert Bresson. Intrpretes: Csar
Gattegno, Charles Le Clainche, Franois Leterrier, Jacques Ertaud. Frana. 1956. 1 DVD
(99 min).
THE GENERAL. Direo: Buster Keaton, Clyde Bruckman. Produo: Buster Keaton,
Joseph M. Schenck. Intrpretes: Buster Keaton, Charles Smith, Frank Barnes. Roteiro:
Al Boasberg, Buster Keaton. 1927. 1 DVD (75 min).
99
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 99 25/07/2013 09:08:47
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 100 25/07/2013 09:08:47
Do que estamos falando?
Eficcia simblica, metforas e o espao entre
Octavio Bonet
Em 1926, no clssico artigo Efeito fsico no indivduo da ideia de morte sugerida
pela coletividade, Marcel Mauss (2003, p. 349) estava preocupado em entender
e classificar fenmenos nos quais a influncia do social sobre o fsico con-
ta com uma mediao psquica evidente. Diz mais frente: A conscincia
invadida por ideias e sentimentos que so totalmente de origem coletiva, que
no revelam nenhum distrbio fsico. (2003, p. 350) Descrevendo uma situa-
o desse tipo entre os australianos, Mauss observa que a quebra de um tabu
desencadeia uma ruptura da comunho existente entre o sujeito e a coletivida-
de e, por se sentir perseguido, o homem se deixa morrer. Na concluso desse
artigo, sustenta Mauss (2003, p. 364): a considerao do psquico, ou melhor,
do psico-orgnico insuficiente aqui, mesmo para descrever o complexo intei-
ro. A considerao do social necessria.1
Vinte e trs anos depois, em 1949, Lvi-Strauss escreve dois artigos famo-
sos: O feiticeiro e sua magia e A eficcia simblica. Neles, Lvi-Strauss define uma
ideia muito produtiva e muito utilizada nos prximos anos, que denominou
eficcia simblica. Os dois artigos, numa primeira leitura quase cannica ,
apresentavam a questo de curar com a utilizao de smbolos. Em outros ter-
mos, podemos dizer que Lvi-Strauss estava pensando em como fazer coisas
com palavras, ou em como os smbolos tm o poder de atuar sobre o mundo
material. Mas no era somente isso que Lvi-Strauss tinha em mente, porque
1 Mauss manifesta tambm o problema da classificao de fenmenos que ele chama de diversos, no artigo so-
bre as tcnicas do corpo (2003), no qual desenvolve a ideia de que perante esses fenmenos nos encontramos
com montagens fsico-psico-sociolgicas. A essas montagens, Mauss (2003, p. 420) chama de engrenagens
que remetem a fatores biolgicos, psicolgicos e sociais.
101
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 101 25/07/2013 09:08:47
octavio bonet
a eficcia dos smbolos no est em alguma propriedade intrnseca deles, mas
em uma utilizao especfica que se faz por meio deles.
No foi por acaso que comecei este texto aludindo aos trabalhos de Mar-
cel Mauss, nos quais ele se mostra preocupado em pensar os fenmenos que
chama de diversos, e que, justamente por serem diversos, chamam vrias
disciplinas para entend-los. Tanto Mauss quanto Lvi-Strauss esto lidando
com fenmenos que se encontram na superfcie de contato entre a dimenso
simblica e material do mundo.
Na minha argumentao, quero salientar dois pontos. Primeiro: que o que
se conhece como eficcia simblica produzida porque as diferentes dimen-
ses que compem a pessoa incluo aqui o entorno social e material se re-
lacionam de forma metafrica. (WAGNER, 1973; 1981) Isto quer dizer que umas
podem ser traduzidas em ou estendidas adequadamente a outras, e que se
comportam como contexto para as outras. Em segundo lugar, considero que,
na direo assinalada por Mauss e Lvi-Strauss, pode-se pensar em uma con-
ceituao da eficcia simblica que no separe as dimenses sociais das biol-
gicas e psicolgicas que se entrelaam na experincia vivida.
Xams, polinucleotdios e eficcia
Lvi-Strauss, no seu famoso artigo sobre a eficcia simblica (1996), apresenta
um encantamento atravs do qual o xam do grupo Cuna, do Panam, ajuda
uma mulher a realizar um parto que apresentava complicaes. Por intermdio
do canto, o xam e seus espritos protetores tm que se conduzir at a morada
de muu, recuperar seu purba (vitalidade), e voltar para assegurar a cura. Uma
cura que no outra coisa que a restaurao da ordem. Como o xam faz isso?
Por meio de uma medicao puramente psicolgica, visto que o xam no toca
no corpo da doente e no lhe administra remdio. (LVI-STRAUSS, 1996, p. 221)
A ideia chave por trs desta cura psicolgica o conceito psicanaltico de
ab-reao. Isto , reviver a situao traumtica para produzir a liberao do afeto
associado ao trauma. fundamental a dimenso da experincia vivida, e o xam
tem que possibilitar a repetio dessa experincia vivida. A paciente no tem
que pensar no mito, tem que sentir no corpo a entrada do xam e seus espritos
protetores pelo caminho de muu. Segundo Lvi-Strauss, o canto que compe o
102
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 102 25/07/2013 09:08:47
do que estamos falando?
ritual de cura consegue reviver a experincia vivida produzindo uma oscilao
cada vez mais rpida entre os temas mticos e os temas fisiolgicos, como se se
tratasse de abolir, no esprito da doente, a distino que os separa, e de tornar
impossvel a diferenciao de seus respectivos atributos. (Lvi-Strauss, 1996,
p. 223) importante o como se, porque mostra que a dimenso mtica e a di-
menso fisiolgica so diferentes, da a ideia de abolir a diferenciao. A distin-
o que os separa est dada, mas tem que ser desmentida pela passagem de uma
para outra; da as imagens de subidas e descidas, de entradas em fila indiana e
sadas de quatro em quatro, que Lvi-Strauss descreve to bem no artigo.
O sentido de todas estas imagens prover uma linguagem que permita
expressar os estados no formulados e, desse modo, desbloquear o processo
fisiolgico. Este processo, diz Lvi-Strauss (1996), possvel porque tanto a do-
ente quanto a comunidade acreditam no xam e na cura, porque compartem
um sistema coerente que fundamenta a viso nativa do mundo. Tudo isto pos-
sibilita uma reorganizao que provoca o desbloqueio fisiolgico.
A crena compartilhada, a autoridade do xam e as palavras proferidas por
este provocam o progresso real da dilatao. (LVI-STRAUSS, 1996, p. 232)
Nesse contexto, o xam prope um paralelismo entre mito e operaes; o do-
ente e o mdico sempre se encontram arranjando de diferentes formas o par
mito e operaes. Essa ideia vai ser explorada por Tambiah (1985, p. 29), entre
muitos outros, quando afirma que o ritual pode ser definido como um com-
plexo de palavras e aes (incluindo a manipulao de objetos). Entretanto,
como Lvi-Strauss assinalou, o poder de fazer coisas com palavras no est
nas prprias palavras, mas no contexto situacional em que elas so proferidas.
O poder das palavras um poder delegado pelo porta-voz que as enuncia em
uma situao performtica que cumpre as condies adequadas de realizao
(crena de todos os membros includos nela, diria Lvi-Strauss).
Mas poderamos continuar nos perguntado por que um ritual efetivo, ou
por que uma determinada tcnica cura, e outras no? Poderamos indagar se
as tcnicas xamansticas, se os encantamentos rituais como o dos Cuna, ou,
ainda, se a psicanlise so terapias eficazes.
Lvi-Strauss enuncia uma possvel resposta para a questo da eficcia
quando est comparando o xam e o psicanalista; se podem ser comparados
porque, no processo de cura de ambos, se trata de
103
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 103 25/07/2013 09:08:47
octavio bonet
[...] induzir uma transformao orgnica que se constituiria essencialmente
em uma reorganizao estrutural, que conduzisse o doente ao viver intensa-
mente um mito [...] cuja estrutura, seria no nvel do psiquismo inconsciente,
anloga quela da qual se quereria determinar a formao no nvel do corpo.
A eficcia simblica consistiria precisamente nesta propriedade indutora
que possuiriam umas em relao s outras, estruturas formalmente hom-
logas, que se podem edificar com materiais diferentes, nos diferentes nveis
do vivente: processos orgnicos, psiquismo inconsciente, pensamento refle-
xivo. (LVI-STRAUSS, 1996, p. 233)
Preocupados em responder pergunta da produo da eficcia das tera-
puticas que curam atravs das palavras, podemos pensar que o ponto central
desta definio est na ideia de propriedade indutora. E, de fato, o canto do
xam Cuna faz com que a mulher reviva o mito do grupo, e assim produz a di-
latao necessria para possibilitar o parto; repensa-se o conflito e se restaura
a ordem (nos seus vrios sentidos). Mas o que acho mais instigante que essa
definio traz a ideia de que as estruturas simblicas so homlogas s estru-
turas corporais. Essa definio diz que os processos orgnicos, o psiquismo
inconsciente e o pensamento reflexivo, enquanto nveis diferentes do vivente,
estruturam-se de forma homloga. Da a pergunta do ttulo: de que estamos
falando? J no interessa se a psicanlise, num segundo momento, se desfaz da
ideia de ab-reao como mecanismo explicativo da neurose, ou se j se perdeu
interesse nas semelhanas entre o xam e o psicanalista. Parece que a aposta
de Lvi-Strauss era outra.
Catherine Clment (2003) percebe outras possibilidades do texto de Lvi-
-Strauss e chama a ateno para o pargrafo anterior ao que citamos, em que
o prprio autor diz que a descrio em termos psicolgicos da estrutura das
psicoses e das neuroses deve desaparecer um dia, diante de uma concepo
fisiolgica ou mesmo bioqumica. (LVI-STRAUSS, 1996, p. 232) Os neurnios
dos loucos no so iguais aos dos normais, assim, ao tentar entender o funcio-
namento da eficcia simblica, Lvi-Strauss remeteria riqueza diferencial em
polinucleotdeos. (CLMENT, 2003, p. 39) Em outras palavras, para entender a
eficcia simblica, temos que nos mover para uma dimenso bioqumica ou
corporal, o que no quer dizer que no seja simblica, mas sim quer dizer que
o grau de extenso da categoria simblica muda.
104
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 104 25/07/2013 09:08:47
do que estamos falando?
Segundo Yvan Simonis (1979), a passagem da natureza para a cultura confi-
gura a dimenso simblica enquanto sistemas de oposies, a partir das quais
vo ser pensadas as relaes biolgicas. Nas palavras de Simonis: a fronteira
natureza-cultura ao mesmo tempo afirmada e ultrapassada. Lvi-Strauss pe
o problema das suas relaes em termos que devem necessariamente destruir,
mais cedo ou tarde, a fronteira. (SIMONIS, 1979, p. 59) Deste modo, assimilan-
do o simblico e as estruturas do inconsciente, Lvi-Strauss espera encontrar
uma explicao para a estrutura do prprio crebro.
Poder-se-ia pensar que o importante no est no simblico, mas na rela-
o entre esses trs nveis do vivente processo orgnico, psiquismo incons-
ciente e pensamento reflexivo; mas o simblico ganha importncia quando
se pensa nele de forma ampliada. Isto , quando se dissocia o simblico do
social, e o primeiro assume o sentido forte que Lvi-Strauss lhe outorga. En-
to, qual essa dimenso simblica? A funo do esprito humano, as regras
inconscientes de todo pensamento a partir do qual estruturamos um discurso
sobre a realidade. Mas, como diz Lvi-Strauss no seu livro O Pensamento Sel-
vagem, a condio de todo pensamento e de toda prxis est no crebro: para
que a prxis possa ser vivida como pensamento [...] preciso antes que o pen-
samento exista, isto , que suas condies iniciais sejam dadas sob a forma de
uma estrutura objetiva do psiquismo e do crebro, na falta da qual no haveria
nem prxis, nem pensamento. (LVI-STRAUSS, 1997, p. 292)
Esta mesma ideia retomada na Introduo obra de Marcel Mauss (2003),
na definio do fato social total como uma estrutura tridimensional: socio-
lgica, histrica e fisiopsicolgica. Essa tridimensionalidade, para ser enten-
dida (como os fenmenos diversos de Mauss), necessita de uma antropo-
logia, isto , um sistema de interpretao que explique simultaneamente os
aspectos fsico, fisiolgico, psquico e sociolgico de todas as condutas. (LVI-
-STRAUSS, 2003, p. 24) V-se claramente como aparece uma explicao em que
o simblico no se define por oposio a alguma outra coisa.
No incio do texto, fiz aluso a como uma leitura canonizada do texto de
Lvi-Strauss sobre a eficcia simblica resgata o fato de que o xam, com pa-
lavras, com smbolos, produz uma transformao corporal. Essa mesma carac-
terstica a de ser simblica utilizada para opor as prticas xamnicas e
todas aquelas que recorreriam a procedimentos de tipo indiretos a outros
105
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 105 25/07/2013 09:08:48
octavio bonet
tipos de prticas que supostamente teriam um embasamento cientfico; neste
caso, esse embasamento se refere ao fato de que no so meramente simb-
licas, pois que teriam procedimentos que interferem no corpo do doente. Este
ltimo tipo de leitura se fundamenta em uma dicotomizao das intervenes
que mais confunde do que esclarece, porque permite que se pergunte se es-
ses procedimentos diretos hoje diramos invasivos no seriam tambm
simblicos. Parece-me claro que nenhum terapeuta aceitaria (em uma suposta
consulta) que seus procedimentos cirrgicos no seriam simblicos; imagino
que diria que tambm o so, embora a eficcia resida no procedimento, e no
na dimenso simblica associada a ele. Pode-se dizer que a distino est en-
to na palavra meramente; umas seriam meramente simblicas, e as outras
teriam um componente simblico residual, mas sua eficcia estaria assegura-
da por uma percepo do real mais aguada e correta.
Esse tipo de argumentao leva em considerao a propriedade indutora
entre as estruturas, proposta por Lvi-Strauss na definio de eficcia simblica,
mas no o fato de que a induo possvel porque seriam estruturas homlogas.
No leva em conta o fato de que tais estruturas seriam facetas de um mesmo fe-
nmeno que ganha significao quando analisado no seu conjunto. Isto , no
podemos explicar a eficcia de uma teraputica por seus elementos simblicos
sem lanar mo dos procedimentos que se operam na dimenso do pensamen-
to, da moral e da fisiologia. Essas so as diferentes dimenses da pessoa e de
seu entorno. Sem este ltimo, a totalidade sempre inacabada da pessoa no
faz sentido; mas, sem todas essas dimenses em constante processo de meta-
forizao, o que chamamos de eficcia simblica no pode ser explicado. Entre-
tanto, essa eficcia no deriva dessas dimenses, mas das conexes que estas
estabelecem formando uma rede de significao.
Espao entre, zonas cinzentas e prticas teraputicas
Antes de continuar com essas ideias tericas gostaria de mostrar duas situaes et-
nogrficas que operariam modo de exemplo do argumento que venho exploran-
do at aqui. Uma dessas situaes corresponde ao meu prprio trabalho de campo,
e a outra se refere etnografia da implantao de um Programa de Sade no muni-
cpio de Maranguape, trabalho realizado pela antroploga Simone Gadelha.
106
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 106 25/07/2013 09:08:48
do que estamos falando?
Previamente ao desenvolvimento dessas situaes, julgo importante men-
cionar a ideia de espao entre que desenvolvi, junto com Ftima Tavares,
em outro texto. (BONET; TAVARES, 2007) Nesse artigo consideramos o entre
como condio de possibilidade do mundo vivido. Esse entre se manifestaria
a partir do momento em que comeamos a perceber a possibilidade das fron-
teiras ficarem porosas para, desse modo, abrir caminho tanto para a incerte-
za e o perigo, mas tambm para as possibilidades criativas associadas falta
de segurana. A criatividade estaria relacionada ao contato com a alteridade;
a diferena produz o movimento que desencadeia as possibilidades criativas.
importante lembrar que o modo como entendemos o espao entre no
de um momento ou lugar especfico em que as certezas seriam questionadas
por alguma mudana nos contextos sociais, por exemplo , mas entendemos
o entre como constitutivo do mundo, tanto moderno quanto no moder-
no. Assim, o entre no poderia ser associado a um momento antiestrutural
como o momento liminar dos rituais de passagem , mas sim aos fluxos, s
linhas de fuga permanentemente presentes em todo encontro teraputico.
A primeira das situaes teraputicas que queria mencionar eu a presen-
ciei enquanto fazia meu trabalho de campo com mdicos de famlia, buscando
entender as lgicas que guiavam sua prtica teraputica e averiguar como isso
influenciava as relaes mdico-paciente.2
O contexto de prtica desses mdicos se constitui ao fazer atendimento a
populaes de classe popular, dependentes do sistema pblico de ateno
sade. Os mdicos dividem parte de suas horas de trabalho no consultrio e
parte em visitas s casas das pessoas.
A consulta se deu na casa da paciente, que ficava perto do lugar onde almo-
vamos. O tipo de casa era uma construo de pelo menos quatro ambientes,
cuidadosamente acabados com uma esttica tpica dos subrbios da cidade em
que fiz as observaes. Durante toda a manh, a pessoa havia se sentido mal,
com a cabea pesada e doendo; virtualmente, no podia abrir os olhos. Um dos
mdicos do Centro de Sade foi v-la depois do almoo e, quando voltou, disse:
2 Por motivos de ordem tica, no mencionarei o lugar em que essa observao etnogrfica foi feita. Por ocasio
desse acontecimento, o acordo de sigilo das suas identidades com os nativos foi explicitamente mencionado.
107
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 107 25/07/2013 09:08:48
octavio bonet
Clinicamente no tem nada. Para mim um esprito obsessor. Por que no vo
ver?. As duas mdicas saem e me chamam para que as acompanhe.3
Quando chegamos casa da mulher, ela estava sentada na cama, com os
olhos fechados; tinha dificuldade para abri-los e manter a cabea erguida; o
clima de tenso se sentia na apreenso da filha, que estava com cara preocu-
pada. A mulher dizia coisas sem sentido. Uma das mdicas segurou suas mos
e a outra colocou uma das mos na nuca e a outra na testa. Segundo a filha,
quando sua me despertou, no estava assim. Passados alguns minutos, uma
das mdicas saiu rapidamente da sala (depois eu soube que tinha ido ao ba-
nheiro vomitar). Quando voltou, segurou a paciente pelas mos e com os olhos
fechados comeou a respirar profundamente. Ao mesmo tempo, a outra mdi-
ca fazia movimentos ascendentes com o dedo indicador, seguindo uma linha
do umbigo at a boca, e lhe dizia que tinha que jogar fora o que tinha dentro.
Pouco depois, a mdica que tinha sado antes voltou a sair e, nesse momento,
a paciente comeou a rir s gargalhadas. A outra mdica a abraou fortemente.
Quando a mdica que tinha sado voltou, as duas mdicas comearam, junto
com a paciente, a rezar. medida que rezavam, pediram paciente que abrisse
os olhos. Depois de rezar trs vezes o Pai Nosso, a mulher abriu os olhos, viu
as duas mdicas e as chamou pelo nome; viu a filha, abraaram-se e comea-
ram a chorar. Eu estava encostado num armrio do lado da porta do quarto,
sem me mexer. Porque era o nico desconhecido, a paciente perguntou: quem
esse?. Ao sair, a paciente nos acompanhou at a porta, depois de nos oferecer
um caf. Seu estado era completamente diferente de quando chegamos.
As mdicas saram comentando que o diagnstico de seu companheiro ha-
via sido correto, mas que ele no sabia como tratar, e eu me retirei tentando dar
um sentido ao que tinha observado. S tinha uma certeza: o estado de sade
da mulher quando entrei era completamente diferente daquele de quando sa.
Alguma coisa as mdicas tinham feito com a paciente. O que me parece impor-
3 Segundo o desenvolvimento de Giumbelli (1997), a partir de 1880 teriam aparecido no Brasil grupos que reali-
zavam prticas de desobsesso. Retomando os trabalhos de Bezerra de Menezes, Giumbelli explica que obses-
so era a designao que se dava perturbao ocasionada sobre o esprito de um indivduo pela interveno
do esprito de outro indivduo, aquele, desencarnado ou sofredor, em virtude de um desejo de vingana da
parte deste, ou de falhas morais da parte do primeiro. (GIUMBELLI, 1997, p. 76) A sesso de desobsesso con-
sistiria justamente em invocar o esprito obsessor a mudar sua atitude, e a obsesso designaria a loucura sem
substrato orgnico.
108
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 108 25/07/2013 09:08:48
do que estamos falando?
tante no saber se em verdade as duas mdicas fizeram ou no uma cura espi-
ritual, mas sim que conseguiram obter determinados efeitos sobre a paciente,
rezando e tocando-a, e que, para elas, isso configurava uma cura espiritual.
Em dilogos posteriores, perguntando sobre o acontecimento, soube que
o mdico que tinha feito o diagnstico de obsesso espiritual pertencia a uma
familia de espritas e que ele prprio era praticante da religio. Esse dado deu
sentido ao diagnstico, mas ele me disse: Eu no saberia tratar isso, uma
coisa que aqui no fazemos, se apresentado um caso para ns, pedimos s
pessoas que procurem algum que saiba. Isso no parte da medicina.
Tambm soube que uma das mdicas atuava como terapeuta espiritual
em outro Centro Teraputico que nada tinha a ver com o Centro de Sade em
que observei a consulta. Ainda que, para ela, essas duas atividades pertences-
sem a esferas diferentes da sua vida, essa informao dava sentido aos proce-
dimentos teraputicos observados: rezar junto com a paciente para expulsar
o esprito obsessor. Ela me disse que achava que as pessoas so algo mais
que ossos e msculos. A ateno deve indicar para essa pessoa que tem uma
vida espiritual e que se no a levar em conta, no podem tratar um monto
de enfermidades. Essa fala me parece interessante porque aponta para uma
compreenso ampliada da pessoa e da doena, de modo a estabelecer uma
relao entre as dimenses fsicas e psquicas. A dimenso simblica no est
explcita, mas podemos pensar que est corporificada, apresentando-se na
ideia de que rezar faz parte de uma teraputica que ajuda a curar determina-
das doenas.
Nos trs mdicos envolvidos na situao percebe-se uma atitude seme-
lhante ao pensar a aflio do doente, no sentido de que esta envolve dimen-
ses fsicas e psquicas ou espirituais. Mas, a partir da, eles constroem redes
diferentes. Para o mdico que faz o diagnstico, mas no participa da cura,
o que suas colegas fizeram no medicina, no uma coisa que se faa no
Centro de Sade; no entra como possibilidade no campo das prticas, mas
sim como percepo da doena, e, assim, como relao entre as dimenses
fsicas e psquicas. O mdico corta a rede que ele prprio produz ao fazer o
diagnstico. Esse corte se manifesta na sua fala quando diz que clnicamente
no tem nada. Esse clinicamente remete a uma separao entre as esferas
biofisiolgicas e psicoespirituais.
109
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 109 25/07/2013 09:08:48
octavio bonet
J suas colegas, com os procedimentos prticos do toque na cabea, da reza
e no movimento ascendente do umbigo at a boca, operam uma transforma-
o psquica da paciente e, ao faz-lo, unificam em uma rede de prticas os
mundos espirituais e o Sistema de Sade. A medicina e a espiritualidade me-
taforizadas em uma rede hbrida, que no reconhece uma separao entre a
clnica e a espiritualidade ou, em outras palavras, entre a dimenso fsica e a
psicoespiritual.
O segundo exemplo que quero relatar se refere ao trabalho etnogrfico de
Simone Gadelha (2006) sobre a construo de uma rede de ateno primria no
municpio de Maranguape (Cear), que passou a incorporar as benzedeiras no
Sistema. O programa chamado Soro, razes e Rezas tinha como objetivo dimi-
nuir a mortalidade infantil por diarreia e desidratao. A etnografia de Simone
Gadelha comea relatando como a ideia simples de incorporar as rezadeiras
no Sistema nasce da perspectiva perifrica de uma assistente social e de duas
enfermeiras. No incio do trabalho, Gadelha se pergunta como foi possvel que
duas vises de mundo que seguem concepes e prticas diferentes pudessem
ter dialogado. E, ainda mais, como tiveram sucesso em reduzir a mortalidade
infantil da rea de influncia do programa. A ideia chave do programa foi apro-
veitar-se da posio que as rezadeiras tinham na comunidade, produzindo a
profissionalizao da sua prtica e outorgando-lhes um espao nos centros de
sade. Isso , na verdade, um reconhecimento do espao que ocupam na rede
de ateno intersticial ao sistema de sade.(BONET; TAVARES, 2006)
Na proposta do programa, as benzedeiras passaram a ter dois ambientes
de trabalho, dentro dos prprios postos de sade e na prpria casa, como ti-
nham feito at a criao do programa. A diferena que aquelas que traba-
lhavam em casa tambm eram registradas como profissionais do Sistema, de
modo que o usurio que vai consult-la na casa , aps o encontro, encami-
nhado para o posto de sade com uma senha que lhe outorga prioridade de
atendimento. Essa simples medida diminuiu o tempo entre o primeiro en-
contro na casa da rezadeira e a entrada no Sistema de Sade das crianas com
desidratao produzidas por diarreia.4
4 Neste texto no entraremos na questo problemtica da medicalizao das prticas populares que a biomedi-
cina propicia quando se estende e metaforiza, autorizando saberes teraputicos populares.
110
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 110 25/07/2013 09:08:48
do que estamos falando?
O pressuposto do sucesso foi colocar em igualdadede condies as reza-
deiras e os profissionais de Sade; em outras palavras, foi dissolver a oposio
entre cincia e crena, salientando que tanto uma quanto outra so crenas.
Embora Gadelha explicite (a partir de uma fala da assistente social idealizado-
ra do sistema) que os profissionais atuantes tm um perfil diferenciado, foi
necessrio, para que o sistema funcionasse, que a discusso sobre a eficcia
fosse contornada para que no atrapalhasse as conexes estabelecidas.
O que surge com a implantao desse programa uma rede de ateno
que hibridiza ou metaforiza no sentido de Roy Wagner tanto a rede oficial
quanto a rede construda pelas rezadeiras. Esse jogo de metforas se estabelece
fazendo extenses de sentido nas definies de profissional de Sade e de re-
zadeiras, sendo que estas ltimas, por esse deslocamento de sentido, ganham
caractersticas de hbridos, o que no acontece com os profissionais mdicos
ou de enfermagem antigos do Sistema de Sade. Finalmente, mas no menos
importante, o objeto hbrido que surge estruturando essa nova rede de aten-
o: o soro benzido. O medicamento utilizado pela medicina recebe a beno,
de modo que a prtica da rezadora se mantm, mas estendida ao incorporar o
objeto que circulava pela rede da biomedicina. J nenhuma das categorias pro-
fissionais e nenhum dos objetos envolvidos so a mesma coisa. Todos tiveram
seu sentido estendido, metaforizado.
A assistente social que ideou o programa no sabia o que estava se per-
guntado quando pensou por que no unir a f parte material e cincia?.
(GADELHA, 2006, p. 26) Que belo pensamento no moderno!, diria Latour em
Jamais fomos modernos. Deixando de lado a crtica que pode ser feita oposio
f-cincia, que tem embutida uma descrena na f e uma crena na cincia, a
frase mostra as conexes, as relaes que o hbrido, soro benzido, teceu. Essa
frase alude quelas dimenses da pessoa de que falei no incio do texto e que
so conectadas, metaforizadas pelo soro: a f e a parte material; a dimenso
psicolgica e espiritual (neste caso) e a dimenso fisiolgica. A dimenso cul-
tural aparecer ainda na associao da reza com uma religiosidade associada
casa e mulher e no saber teraputico das rezadeiras associado a prticas
transmitidas pela tradio.
Em que pese ideia da ideloga do programa, possvel perceber nesse
espao entre, em que se constroem essas redes de humanos e no humanos,
111
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 111 25/07/2013 09:08:48
octavio bonet
que os diferentes saberes, mesmo se hibridizando com os outros, so manti-
dos em uma tenso permanente de aproximao e distanciamento. Se o soro
benzido os hibridiza e os transforma em no modernos, os agentes envolvidos
na rede buscam nas trajetrias profissionais e nos saberes um processo de pu-
rificao que os modernize. Busca infrutuosa porque quanto mais pensam que
se purificam, mais se hibridizam, lembra-nos Latour.
Nos depoimentos dos profissionais que nos apresenta Gadelha, isso ficou
muito explcito, seja abrangendo perspectivas positivas:
a partir daquela crena que tem naquela figura, seja ela o rezador, o mdico,
o terapeuta, outras prticas, no interessa, o que importa a confiana que
o paciente tem naquela figura. No entendo o mecanismo que faz funcionar,
nem entendo de crena. Mas eles acreditam que funciona, e a funciona. Te-
nho visto isso acontecer por aqui! (GADELHA 2006, p. 73)
Seja abrangendo perspectivas negativas em relao potencialidade da
troca e das rezadeiras:
Ele pode ser a pessoa mais religiosa do mundo, mas, se no for bom mdico,
apenas mais uma pessoa religiosa no mundo, no mdico. As rezadeiras
so pessoas muito religiosas e quem acredita nelas tambm. Eles acham que
Deus resolve tudo, mas tenha uma infeco bacteriolgica e fique s rezando
para ver o que acontece. (GADELHA, 2006, p. 73)
Nas duas falas dos profissionais percebe-se a tenso entre esses dois mun-
dos em contato e as complicadas associaes entre as diferentes instncias
da pessoa (social, psicolgica e fisiolgica). Para o primeiro, a eficcia das re-
zadeiras uma questo de crena: funciona porque acreditam que funciona.
Contudo, o interessante que equipara todos os agentes teraputicos, sejam
rezadeiras ou mdicos. Poderamos dizer que o que esse mdico faz sus-
pender a descrena (vi isso acontecer), mas no se indaga de onde provm
a eficcia (no entendo o que faz funcionar...). J no segundo depoimento, as
dimenses esto separadas, a rede cortada: uma coisa a dimenso religiosa,
e outra, a teraputica. No h conexo entre a reza e a bactria, entre o psico-
lgico, representado pela crena, e o biofisiolgico, representado pela bactria.
Essa tenso manifestada pelos profissionais mdicos ao serem inseridos
no programa e perceberem a caracterstica de entre-saberes do contexto da
112
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 112 25/07/2013 09:08:48
do que estamos falando?
sua prtica vivida de forma no conflitante pelas rezadeiras. Estas reconhe-
cem que existem doenas que elas no curam, por exemplo: Doenas que pre-
cisa operar, doenas que so do corpo mesmo, de dentro dele, e no psicolgi-
cas, da mente. s vezes a pessoa fica doente s da cabea e uma reza, uma coisa,
voc acredita e fica boa. (GADELHA, 2006, p. 66) Percebe-se como esse depoi-
mento retoma o tema da crena e, nesse sentido, aproxima-se do depoimento
do primeiro profissional. E, ao mesmo tempo, aproxima-se do depoimento do
segundo profissional, porque h doenas que no se curam pela reza, mas fa-
zem necessrios outros procedimentos. Para atingir a dimenso corporal, a reza
no seria suficiente. Entretanto, ao descrever o modo de trabalho das rezadeiras,
Gadelha diz que na maioria das vezes a reza acompanhada de prescries re-
lacionadas no ingesto de determinados alimentos, ou de evitao do sol e
de relaes sexuais, o que fala da interconexo entre as dimenses corporais e
psicoespirituais na teraputica das doenas.
Estruturas, metforas e obviao. modo de concluso
No incio do texto desenvolvi sumariamente as ideias de Lvi-Strauss sobre a
eficcia simblica entendida como a propriedade indutora entre estruturas ho-
mlogas. Para ir concluindo este texto vou metaforizar, estender, o significado
dessas duas ideias para alm do que ele disse. Nesse movimento no sei se
estarei indo para alm da eficcia simblica, mas minha ideia ir alm de uma
leitura possvel dela, no para substitu-la por outra, melhor ou pior, mas para
tentar dar conta dos encontros teraputicos que hoje se vivenciam no espao
entre, para tentar pensar as relaes entre pacientes e terapeutas, sejam mdi-
cos ou rezadeiras, como negociadas no dia a dia no mundo.
Ento, podemos nos perguntar sobre que mundo esse em que nos de-
frontamos com mdicos que rezam com seus pacientes, e consideram isso
conduta teraputica, com rezadeiras que trabalham nos postos de sade e com
mdicos que julgam que a crena tem eficcia compartilhando o espao com
outros mdicos para os quais a bactria o real, situada para alm da constru-
o social. Nesse mundo que todos eles associam e dissociam as dimenses
constitutivas da pessoa de que falava Mauss: social, psicolgica e biolgica.
Como possvel pensar nesse mundo sem abrir mo das estruturas homlo-
113
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 113 25/07/2013 09:08:48
octavio bonet
gas que se induzem umas s outras? Ou ainda: pode-se enfatizar a induo e a
homologia, mas no as estruturas e sua associao a uma possvel estrutura da
natureza? A a qualidade simblica da eficcia j no seria o foco, e sim o por
qu a eficcia, que supe a induo, possvel.
interessante que muitos anos depois de Lvi-Strauss falar em estruturas
indutoras, Bateson, no seu livro Espritu y Naturaleza, se pergunte qual o
padro que conecta a lagosta com o caranguejo, e a orqudea com o narciso,
e os quatro com ele prprio. (Bateson, 1982, p. 7) Ele se perguntava pelo pa-
dro que conecta. Em outras palavras, quais so as caractersticas que eles tm
que permite que sejam conectados? Quais so as caractersticas do corpo da
paciente para que a reza das mdicas ou das benzedeiras produza uma modi-
ficao corprea? A indagao que pode ser feita em relao aos exemplos que
trouxemos para ilustrar a argumentao : o que conecta a benzedeira, o mdi-
co, a reza, o soro benzido e os mdicos com os espritos?
Bateson argumentaria que todos eles pertencem creatura, ao mundo da
informao, das diferenas e das distines. o mundo dos processos mentais,
que inclui tanto a sociedade, a ns mesmos enquanto indivduos, quanto a
natureza, a embriologia e a evoluo. Esse mundo da creatura teria seu contra-
ponto no mundo do pleroma, que o mundo fsico, das foras e dos impactos.
um mundo em que no h diferenas, e, portanto, no h informao. (BA-
TESON, 1972, p. 486)
Todavia, o que aparenta ser um dualismo dicotmico, Bateson desfaz
prontamente quando afirma que
[...] as duas esferas no esto em modo algum separadas ou que possam se
separar, a no ser como nveis de descrio [...] Tudo que faz parte da creatu-
ra existe dentro do pleroma e por obra dele; o uso do termo creatura afirma a
presena de certas caractersticas de organizao e comunicao que so elas
mesmas materiais. O conhecimento do pleroma s existe na creatura. (BATE-
SON; BATESON, 1989, p. 31, grifos do autor)
E posteriormente declara que as duas esferas s podem ser estudadas em com-
binao, j que os processos mentais exigem disposies da matria para se
organizar. Essa abordagem batesoniana tem fortes ressonncias com a propo-
sio de Lvi-Strauss sobre a relao entre pensamento e a estrutura do crebro.
114
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 114 25/07/2013 09:08:48
do que estamos falando?
Em vrios momentos da sua obra, Bateson explicita que a linguagem da
creatura a metfora, que seria associada abduo e ao smile; esses procedi-
mentos tm em comum o fato de se focarem nas relaes, e no nos elementos.
Assim, a linguagem da creatura uma linguagem relacional. Sem buscar uma
extenso como a que prope Bateson a metfora como linguagem da nature-
za , Roy Wagner tambm resgata a importncia da metfora para a linguagem
simblica. Se, para o primeiro, a metfora a justaposio de duas proposies
complexas (BATESON; BATESON, 1989, p. 187), para o segundo a extenso do
sentido produzida ao utilizar as proposies em novos contextos, o que ori-
gina novas significaes. (WAGNER, 1981) O que interessa que para ambos o
principal a caracterstica relacional para entender os processos de conheci-
mento, de simbolizao e de experincia do mundo.
Finalmente, para completar o esquema explicativo que proponho neste tex-
to, tenho que recorrer ideia de obviao que extraio de Tim Ingold, quando
prope a perspectiva que dissolve os limites entre antropologia social e biolgi-
ca e psicologia. A perspectiva da obviao supe um ser humano
no como uma entidade composta de partes separveis, mas mutuamente
complementares, tais como corpo, mente e cultura, mas como um lcus sin-
gular de crescimento criativo dentro de um campo de relaes em contnuo
desdobramento. (INGOLD, 2001, p. 256)
Neste esquema proposto, as tenses manifestadas pelos sujeitos nos rela-
tos etnogrficos, as aparentes contradies e dvidas a respeito da eficcia dos
tratamentos, as percepes de doena e corpo e suas possveis relaes so sem-
pre metforas de metforas que esto em uma contnua recombinao. Neste
esquema, a eficcia simblica, desde Mauss, passando por Lvi-Strauss at In-
gold, no est mostrando o poder dos smbolos de fazer coisas no mundo, mas
o poder das relaes. Isto , o poder do mundo interconectado, est mostrando
que o mundo uma rede. Quando a rede foi cortada pela anlise empreendida,
e separamos o mundo em dimenses vrias mente, corpo, simblica, material
etc. , perdeu-se a possibilidade de explicar a eficcia simblica. Nesse mo-
mento, a reza uma coisa diferente da bactria, e o mdico no se entende com
a rezadeira, embora estejam lidando com o mesmo fenmeno. Pleromatizou-se
o mundo, diria Bateson, e com isso o perdemos.
115
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 115 25/07/2013 09:08:48
octavio bonet
Referncias
BATESON, Gregory; BATESON, Mary Catherine. El temor de los ngeles. Barcelona:
Gedisa, 1989.
BATESON, Gregory. Pasos hacia una ecologa de la mente: una aproximacin
revolucionaria a la autocomprensin del hombre. Buenos Aires: Ed. Carlos Lohl, 1972.
BATESON, Gregory. Espritu y Naturaleza. Buenos Aires: Amorrortu, 1982.
BONET, Octavio A. R.; TAVARES, Ftima Regina Gomes. O cuidado como metfora
nas redes da prtica teraputica In: PINHEIRO, Roseni; MATTOS, Ruben (Ed.). Razes
pblicas para a integralidade em sade: o cuidado como valor. Rio de Janeiro: CEPESC-
IMS UERJ-ABRASCO, 2007.
BONET, Octavio; TAVARES, Ftima. Redes em redes: dimenses intersticiais no
sistema de cuidados sade. In: PINHEIRO, Roseni; MATTOS, Ruben (Ed.). Gesto em
redes. prticas de avaliao, formao e participao na sade. Rio de Janeiro: CEPESC,
2006, p. 385-399.
CLMENT, Catherine. Claude Lvi-Strauss. Buenos Aires: Fondo de Cultura Econmica,
2003.
GADELHA, Simone. Entre a Cincia e a Reza: estudo de caso sobre a incorporao das
rezadeiras ao Programa de Sade da Familia no municpio de Maranguape-Ce. 2006.
Dissertao (Mestrado em Cincias Sociais) - Ps-Graduao em Desenvolvimento,
Agricultura e Sociedade, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro,
2006.
GIUMBELLI, Emerson. O cuidado dos mortos: uma histria da condenao e
legitimao do Espiritismo. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1997.
INGOLD, Tim. From complementarity to obviation: on dissolving the boundaries
between social and biological anthropology, archaeology, and psychology. In: OYAMA,
Susan; GRIFFITHS, Paul E.; GRAY, Russell D. (Ed.). Cycles of contingency. developmental
systems and evolution. Massachusetts: The MIT Press, 2001.
LVI-STRAUSS, Claude. A eficcia Simblica. In: _________. Antropologia Estrutural. Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996.
_________. O pensamento selvagem. So Paulo: Papirus Ed., 1997.
_________. Introduo obra de Marcel Mauss. In: MAUSS, Marcel. Sociologia e
antropologia. So Paulo: Cosac & Naify, 2004.
MAUSS Marcel. Efeito Fsico no indivduo da idia de morte sugerida pela coletividade
(Austrlia, Nova Zelndia). In: _________. Sociologia e Antropologia. So Paulo: Cosac &
Naify, 2003.
SIMONIS, Yvan. Introduo ao Estruturalismo: Claude Lvi-Strauss ou a paixo do
incesto. Lisboa: Moraes, 1979.
116
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 116 25/07/2013 09:08:48
do que estamos falando?
TAMBIAH, Stanley J. Culture, thought, and social action. Masschusetts: Harvard
University Press, 1985.
WAGNER, Roy. Habu: the innovation of meaning in daribi religion. Chicago: The
University of Chicago Press, 1973.
WAGNER, Roy. The invention of culture. revised and expanded edition. Chicago: The
University of Chicago Press, 1981.
117
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 117 25/07/2013 09:08:48
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 118 25/07/2013 09:08:48
PARTE 2
Ritual e transformao eficaz
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 119 25/07/2013 09:08:48
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 120 25/07/2013 09:08:48
Incorporar os deuses
Dispositivos pragmticos do transe de possesso
religiosa no culto Xang de Recife (primeiras pistas)1
Arnaud Halloy2
Neste artigo, esboo uma anlise dos dispositivos pragmticos que subjazem
ao engendramento e aprendizagem do transe de possesso religiosa em um
culto afro-brasileiro. A orientao pragmtica desta pesquisa remete consi-
derao dos elementos do contexto imediato de ao ritual interveniente na
orientao e na maximizao das inferncias que eles evocam, das respostas
afetivas que eles despertam e das possibilidades de ao que eles oferecem.3
Tal abordagem levanta uma questo antiga, mas sempre largamente debatida
na antropologia: Que fazem os rituais queles que deles participam? Um am-
plo consenso em cincias sociais tende a reconhecer a capacidade dos rituais
em engendrar uma transformao. J Durkheim (1991) pressentia que os rituais
no poderiam ser reduzidos expresso das primcias de uma cultura, mas
que contribuam diretamente sua renovao pela transformao dos indiv-
duos que deles tomavam parte. L, onde, em revanche, a opinio dos pesquisa-
dores diverge, sobre a maneira com que os rituais conseguem engendrar tal
mudana.
Meu objetivo no aqui passar em revista o conjunto das teorias sobre a
questo, mas sugerir vrias pistas tericas a partir do estudo da possesso reli-
1 Texto publicado em Sbastien Baud et Nancy Midol (Org.). La conscience dans tous ses tats: approches an-
thropologiques et psychiatriques: cultures et thrapies. Paris: Elvesier Masson, 2009. Traduo de Leila Schoe-
nenkorb da Silva. Reviso tcnica de La Freitas Perez.
2 A primeira verso deste texto se beneficiou dos comentrios preciosos de Franois Berthom, Julien Bonhom-
me, Olivier Whatelet e Ruy Blanes. Quero agradecer-lhes calorosamente por sua generosidade e seu olhar
sempre pertinente.
3 Inspirada pela pragmtica cognitiva de Dan Sperber e Dierde Wilson (1989), esta definio constitui uma ex-
tenso antropolgica na medida em que ela focaliza os efeitos cognitivos, emocionais e actanciais da forma
da ao ritual e na medida em que ela engloba elementos contextuais to diversos, como a manipulao de
objetos, os tratamentos corporais e as formas singulares de interao.
121
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 121 25/07/2013 09:08:48
arnaud halloy
giosa em um culto de possesso afro-brasileiro. O objetivo perseguido consiste
em colocar em evidncia certos dispositivos pragmticos que, me parecem, ul-
trapassam o caso da figura da possesso e so potencialmente empregados em
numerosas situaes rituais, tanto religiosas quanto teraputicas.
Trs dimenses pragmticas diretamente ligadas ao transe de possesso
religiosa sero distinguidas em minha anlise: a dimenso material, que foca-
liza os objetos cultuais e seu papel na relao ritualmente instaurada entre o
iniciado e sua divindade; a dimenso somtica, que diz respeito s ressonncias
afetivas e sensoriais dos tratamentos e tcnicas do corpo do iniciado, mas tam-
bm da interao com sua divindade; a dimenso interacional, que busca dar
conta do impacto das configuraes relacionais que intervm no curso da ao
ritual no engendramento da possesso. Para cada uma dessas trs dimenses,
sugerirei vrias hipteses concernentes aos laos entre a forma de ao e cer-
tas operaes cognitivas potencialmente implicadas na prtica da possesso.
Mas, em um primeiro momento, uma breve descrio do culto, assim
como das relaes entre possesso e ao ritual, se faz necessria.
A possesso no culto Xang de Recife
O Culto Xang
O Xang um culto de origem iorub situado em Recife, capital do estado de
Pernambuco, no nordeste do Brasil. A denominao Xang, segundo Roger
Bastide (1989, p.267), um etnnimo exgeno atribudo pelos Brancos ao culto
das divindades africanas de Alagoas, Sergipe e Recife por causa da popularida-
de da divindade xang4 nessas diferentes cidades. A gnese do Xang de Recife
remonta ao fim do sculo XIX. Discreto durante quase meio sculo, o culto co-
nheceu uma forte expanso escala da cidade a partir da segunda metade do
sculo XX. Segundo o etnomusiclogo brasileiro Jos Jorge de Carvalho (1987),
certos chefes de culto desempenharam um papel determinante nesta expanso.
4 Divindade guerreira associada ao trovo, xang seria proveniente da cidade de Oi, no pas iorub. Na sequ-
ncia do texto, o uso de itlico sem maiscula designar a divindade, enquanto o uso da maiscula sem itlico
designar a modalidade de culto estudada.
122
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 122 25/07/2013 09:08:48
incorporar os deuses
Duas categorias de entidades espirituais5 compem o panteo do Xang:
os eguns, ou ancestrais familiares, cuja possesso estritamente proscrita, e os
orixs, as divindades de origem iorub associadas aos elementos da natureza
(rio, mar, floresta, tempestade...) ou a certas atividades humanas (caa, forja...),
cuja possesso valorizada e procurada. Segundo as concepes de pessoa no
culto dos orixs no Brasil mas tambm nos outros lugares do Novo Mundo
onde os reencontramos6 , todo indivduo supostamente o filho ou a filha
de um ou vrios orixs. (AUGRAS, 1992; GOLDMAN, 1987; LPINE, 2000; SEGA-
TO, 1995) Os membros do Xang distinguem o orix principal, chamado orix
de cabea, e o junt ou adjunt, que aquele que, literalmente, acompanha o
orix principal. A identificao das divindades de uma pessoa repousa tanto
sobre o reconhecimento de uma srie de traos fsicos e/ou psicolgicos ha-
bitualmente associados aos filhos de uma ou outra divindade quanto sobre
a consulta do orculo que, em todos os casos, ser o nico a poder estatuir de
maneira definitiva sobre a identidade dos orixs de um indivduo.7
Culto inicitico fundado sobre o sacrifcio animal e a possesso, o Xang
organizado em famlias de santos, isto , em comunidades de culto fundadas
na elaborao de laos iniciticos entre seus membros, calcadas no modelo da
famlia biolgica. Assim, os iniciadores so chamados pai e me de santo;
os iniciados, filhos e filhas de santo; e os coiniciados de um mesmo inicia-
dor, irmos e irms de santo. Cada casa de culto ou terreiro dirigida por
um pai e/ou uma me de santo e os laos iniciticos tecidos entre iniciados
e chefes de culto esto na base da constituio de vastas redes de indivduos
familiares, entre os quais circulam os saberes e o saber-fazer ligados ao culto.
5 Aproprio-me aqui de uma categoria frequentemente empregada pelos membros do culto para designar o
conjunto das categorias de seres que povoam o mundo espiritual, todos os cultos confundidos.
6 Como, por exemplo, Cuba, mas tambm, mais recentemente, vrios pases da Amrica Latina, tais como a
Argentina e o Uruguai, para onde os orixs migraram com os chefes de cultos brasileiros a partir dos anos 1960.
(ORO, 1999)
7 A identificao dos orixs do iniciado o desafio maior do culto, pois um erro nesta etapa inicial arruinaria
toda a empresa inicitica. Esta afirmao facilmente compreensvel se consideramos a iniciao como um
dispositivo no curso do qual a relao entre um indivduo e suas divindades ritualmente singularizada e
encarnada, ao mesmo tempo, em objetos, em sensaes e em interaes concretas. Entre as consequncias
esperadas de um erro de identificao, os membros do culto invocam, notadamente, a loucura ou, de ma-
neira mais geral, o infortnio e seu cortejo de desgraas
123
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 123 25/07/2013 09:08:48
arnaud halloy
Os contextos de ocorrncia da possesso
A iniciao conta, sem dvida, entre os momentos fortes do percurso religioso
do iniciado, dada a importncia social e simblica de tal evento. Importncia
social na medida em que o iniciado ser doravante considerado por seus pares
como um membro completo da comunidade religiosa, mas tambm porque
a iniciao marca o ponto de partida de sua ascenso hierrquica no seio do
culto. Sete anos de iniciao sero, com efeito, necessrios para que o novio
possa, por sua vez, aspirar ao estatuto de chefe de culto e formar, ele mesmo,
seus prprios iniciados. Importncia simblica igualmente pois, a iniciao
sela uma aliana definitiva entre o novio, seus iniciadores e sua ou suas
divindade(s). Apenas a morte, como afirmam categoricamente os membros do
culto, ser capaz de quebrar tal lao que une o indivduo ao seu orix.8 A ini-
ciao haure, igualmente, sua fora simblica do fato de que ela instaura um
contexto ritual propcio ao nascimento dos orixs, ou seja, no contexto do
Xang, na ocorrncia dos primeiros transes religiosos.
Se a iniciao um lugar propcio s primeiras possesses, ela est, toda-
via, longe de ser o contexto exclusivo. Com efeito, importante observar que
o conjunto dos rituais praticados no curso da iniciao, com exceo do ritual
de feitura9 que lhe especfico,10 constitui o principal repertrio litrgico do
Xang. Estes so, alis, reiterados, a cada ano, no curso de festas organizadas
para as divindades de cada iniciado. Entre os rituais expressamente dirigidos
aos orixs, distinguiremos os rituais privados como, por exemplo, o banho de
folhas (amas) e o sacrifcio animal (obrigao), sobre os quais retornaremos
mais em detalhe, e a festa pblica, geralmente organizada no dia seguinte aos
ritos privados e durante a qual os orixs so convidados a vir danar ao som dos
tambores e dos cantos em sua honra.
8 Se ativermo-nos estritamente lgica inicitica, no curso do oxex, o rito funerrio do candombl, que os
laos tecidos entre o iniciado e suas divindades, no curso da iniciao, sero definitivamente desfeitos. Na
verdade, no entanto, as mudanas de iniciador no so raras. Na maior parte do tempo, elas implicam uma
nova iniciao.
9 Nota da revisora: No texto em francs o autor usa o termo facture. E chama a seguinte nota explicativa: Reto-
mo aqui a traduo do termo feitura proposta por Carmen Opipari (2004).
10 O ritual de feitura um ritual nico, no curso do qual o corpo do novio raspado, escarificado (catulado) e
depois pintado com as cores iniciticas prprias sua nao de culto e ao seu orix.
124
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 124 25/07/2013 09:08:48
incorporar os deuses
O lao entre possesso e iniciao , portanto, estreito. Ele no , todavia,
automtico. Certos indivduos se engajam no percurso inicitico precisamente
porque j foram possudos por seu orix, seja no curso de cerimnias pblicas
s quais eles assistiam, ou ainda, de maneira inopinada, em sua vida cotidiana.
Em ambos os casos, a iniciao percebida como inevitvel, pois a possesso
traduziria a vontade do orix de ser feito, segundo a expresso usual, isto ,
de ver a pessoa escolhida ser iniciada e lhe render um culto.11
A possesso no , tampouco, contrariamente a outras modalidades de cul-
tos afro-brasileiros, a culminncia obrigatria de uma iniciao bem sucedida.
Certos iniciados no sero tomados por seu orix seno anos aps sua inicia-
o, outros talvez no o sero jamais. As opinies divergem quanto s razes
de tal disparidade. Um discurso parece, todavia, amplamente admitido entre
os membros do culto: o transe de possesso um fenmeno, ao mesmo tempo,
natural o transe depende da vontade dos orixs, que no so outros seno
a personalizao de foras da natureza e universal: a possesso passa por
no importa qual corpo!, como me afirmou Junior, um jovem chefe de culto.
A hiptese da tripla ancoragem ritual
A hiptese central sobre a qual repousa a presente anlise pode ser formulada
como segue: o transe de possesso religiosa torna manifesto um processo de
ancoragem,12 ao mesmo tempo, material, somtico e interacional, que tem por
consequncia principal transformar a relao que mantm o indivduo com
sua ou suas divindade(s). Se, antes da iniciao, ele pode assimilar toda uma
srie de saberes exegticos a propsito dos orixs e de sua capacidade de agir
no mundo dos seres humanos, um tal conhecimento permanecia virtual na
medida em que tinha pouco poder sobre as aes e interaes cotidianas do
indivduo. Com a iniciao, a relao com os orixs muda de natureza: ela se
11 Em outros casos, de longe os mais frequentes, o orix manifesta essa mesma vontade atravs de uma srie
de desgraas que inflige ao seu filho. A identificao da fonte espiritual do infortnio depender, ento, da
consulta do orculo por um pai ou me-de-santo.
12 Em um artigo recente, Bertrand Hell (2008) convida a desenvolver uma teoria da ancoragem para o estu-
do do transe de possesso religiosa. A presente anlise se inscreve diretamente nesta perspectiva. Nota da
revisora: artigo tambm presente nesta coletnea: Negociar com os espritos tromba em Mayotte: retorno ao
teatro vivido da possesso.
125
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 125 25/07/2013 09:08:48
arnaud halloy
encarna nos atos rituais eficazes, implicando duas mudanas principais para
o novio. Primeiro, o comrcio com os deuses passar doravante por um espe-
cialista religioso que se torna o mediador privilegiado e incontornvel de sua
relao com os orixs.13 Ento, a influncia das divindades na vida cotidiana
do novo iniciado revelar-se- muito mais constrangedora, impondo tabus ali-
mentares severos, modos de conduta, obrigaes rituais, etc. O no respeito s
novas prescries e proibies expe o iniciado clera de seus orixs, que no
hesitam em puni-lo em seu corpo (doenas, acidentes), seu esprito (mal-estar,
loucura) ou em sua vida social (perda do emprego, disputas conjugais, aborre-
cimentos com a polcia...).
Este deslizamento de uma relao virtual em direo a interaes e conse-
quncias concretas pode ser esquematicamente representado como ilustrado
na figura 1.
Figura 1 - A tripla ancoragem ritual
Antes do engajamento inicitico: Aps o engajamento inicitico:
Orix(s)
Orix(s)
Iniciao/ritual
Ancoragem
material, somtica
e internacional
Indivduo
Indivduo
13 Antes dos primeiros atos rituais postos pelo futuro iniciador, este desempenha mais um papel de conselheiro
junto ao iniciado potencial, que permanece livre para vagar de um terreiro a outro, procura do chefe de culto
que lhe parecer o mais digno de confiana e o mais competente. Iniciador escolhido, ele poder exigir uma
iniciadora, mas cujo papel ritual permanece secundrio ou, segundo a expresso de uso, complementar, na
medida em que numerosos atos rituais essenciais, tais como a morte sacrificial ou a escarificao (catulagem),
so exclusivamente atribudos aos homens.
126
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 126 25/07/2013 09:08:48
incorporar os deuses
A principal questo que ir agora nos ocupar a seguinte: Como uma tal
transformao de natureza na relao com os orixs operada no seio da ati-
vidade ritual?
Proponho uma primeira pista de resposta concentrando nosso interesse
nos objetos cultuais.
A dimenso material da possesso religiosa14
Da influncia dos objetos cultuais
Certos objetos ocupam um lugar central na atividade ritual do Xang. , nota-
damente, o caso das pedras (ots) e dos pedaos de ferro (ferramentas) que com-
pem o altar das divindades. Para os participantes, isso no deixa nenhuma
dvida: o ot o orix. Os membros do culto tm, alis, o hbito de se referir
ao ot de seu altar (assentamento15) pela expresso meu orix, ou de desig-
nar aquele dos outros iniciados dizendo: o xang de Tiago, o ogun16 de Ta-
sa, etc. A importncia desses objetos est precisamente na influncia que eles
so capazes de exercer sobre os iniciados para quem eles foram consagrados.
Isto notadamente sublinhado nas histrias dramticas bem conhecidas dos
membros do culto, histrias que colocam em cena os roteiros punitivos ligados
ao mau tratamento (destruio/abandono) do altar seguinte, especialmente
converso de membros do Xang ao pentecostalismo.
A mudana de iniciador coloca, igualmente, em evidncia o lugar central
que ocupam os objetos cultuais no tandem orix/iniciado, sublinhando o pa-
pel indispensvel desempenhado pelo iniciador na regulao desse casal.17 De
fato, a primeira iniciativa de um iniciado decidido a mudar de iniciador con-
siste em retomar seu altar no templo deste ltimo e lev-lo para sua casa ou
para sua nova casa de culto (terreiro). Este ato forte se explica pelo lao ntimo
14 Para uma verso mais completa deste argumento, ver Halloy (no prelo).
15 O altar do orix compe-se, geralmente, de um largo prato em barro cozido, em madeira ou de uma sopeira
em cermica contendo objetos que variam de um altar a outro, como, por exemplo, bzios, moedas, pedaos
de ossos, frutas secas... Assim como objetos permanentes: quer uma pedra, quer pedaos de ferro.
16 Deus da forja. Ogun igualmente o orix abridor de caminhos.
17 O uso do termo casal no abusivo quando se sabe que o novio chamado ia (ortografia portuguesa), o
que significa a esposa (dos orixs) em iorub.
127
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 127 25/07/2013 09:08:48
arnaud halloy
e indissolvel (ritualmente) estabelecido entre o iniciado e sua divindade via
ot ou ferramentas, aos quais o iniciado identificado. A manipulao dos ob-
jetos cultuais implica, pois, uma confiana total do iniciado para com seu ini-
ciador. Retorno em seguida a esta caracterstica constitutiva da relao ente
iniciador e iniciado.
Objetos e ao ritual
A manipulao do altar no curso da iniciao e das cerimnias anuais comea
com o banho de folhas (amas). Esse ritual abre o ciclo cerimonial diretamente
dedicado aos orixs.18 No curso desta cerimnia, o contedo e o continente do
altar so lavados com uma decoco base de plantas chamadas folhas
recentemente colhidas,19 No auge do ritual, atravs de cantos e invocaes,
dos quais participam as pessoas presentes, o iniciador se enderea ao orix do
iniciado, incitando-o a possuir de seu filho ou de sua filha. Durante toda
esta sequncia ritual, a pea central compondo o altar (ot ou ferramenta)
mantida pelo iniciador contra a cabea do iniciado ajoelhado diante da larga
bacia contendo a decoco de plantas. No mesmo momento, um oficiante ou
a iniciadora20 despeja o lquido sobre os objetos ao mesmo tempo que sobre a
cabea e o corpo do iniciado. Esta operao central pois trata-se no somente
de purificar e fechar o corpo do iniciado a toda influncia nefasta, mas, igual-
mente, de o fortificar com vistas a receber seu orix.
No curso do sacrifcio animal, que segue geralmente o amas, o sangue sa-
crificial , em um primeiro momento, despejado sobre a pedra ou os pedaos
de ferro que compem o altar, antes de ser derramado sobre a cabea e os om-
bros do sacrificante, ajoelhado diante do altar de seu orix. Pedras e pedaos
de ferro so aqui tratados com os mesmos gestos (poderamos dizer o mesmo
18 Esses rituais so, geralmente, precedidos de uma oferenda aos ancestrais familiares, assim como de um ritual
cujo principal destinatrio o ori, a cabea do iniciado. Os destinatrios no sendo os orixs, o transe de pos-
sesso proscrito no curso desses dois rituais.
19 As plantas so escolhidas em funo do orix do iniciado.
20 Dada a complexidade dos ritos do Xang, o iniciador secundado em numerosas tarefas rituais por seus ofi-
ciantes de confiana, incluindo a iniciadora. Se, como j mencionado, as principais aes rituais so levadas
pelo pai-de-santo, a importncia simblica da me-de-santo central na medida em que ela contribui para
alimentar a cerimnia com sua energia vital (ax). Veremos que ela igualmente capaz de manter vis a vis do
iniciado uma relao de maternagem capaz de facilitar o processo de engendramento da possesso.
128
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 128 25/07/2013 09:08:48
incorporar os deuses
cuidado21) que a cabea e o corpo do iniciado. Encontramos os mesmos princ-
pios em ao durante o ritual de feitura, o ritual inicitico por excelncia: pe-
dras e pedaos de ferro so novamente colocados em contato com a cabea do
novio antes de serem postos sobre cada uma das escarificaes recentemente
inscritas na superfcie de seu corpo. Alm de implicar um tratamento sistem-
tico dos objetos cultuais e do corpo do iniciado, esses trs rituais partilham a
caracterstica de, regularmente, conduzirem ao transe de possesso.
Sintetizemos esses primeiros dados etnogrficos. No curso do ritual do
amas, os tratamentos do corpo e dos objetos cultuais estudados so claramen-
te concomitantes intervm em uma mesma sequncia ritual e contguos
so mantidos em contato fsico um com o outro. No curso do ritual sacrificial,
em revanche, a cabea do iniciado e a pedra ou os pedaos de ferro so tratados
da mesma maneira. Podemos falar, nesse caso, de isomorfismo dos tratamentos.
Affordances derivadas e desvios ontolgicos
Com esses dados em mente, quero agora retornar nossa hiptese inicial e
mostrar como a forma da manipulao ritual dos objetos cultuais estudados
contribui para modificar no somente certas expectativas (intuitivas) relativas
s possibilidades de ao que eles oferecem, mas, igualmente, sua ontologia,
isto , a maneira pela qual sua natureza percebida e conceitualizada pelos
membros do culto.
O que se observa, com efeito, que as pedras e pedaos de ferro no so
mais tratados da mesma maneira, uma vez introduzidos no culto. Mais es-
pecificamente, eles so objeto de um desvio, disso que o psiclogo J. J. Gib-
son chamou de suas affordances naturais. Muito esquematicamente, uma
affordance pode ser descrita como uma possibilidade de ao que ofereceria
um objeto por sua pura materialidade (GIBSON, 1979, p. 127) e que variaria em
funo do organismo que interagiria com esse objeto.22 Para um ser humano,
poderamos dizer que a forma e a dureza natural de uma pedra de pequeno
21 Q
uando o altar limpo, no terceiro dia seguinte ao sacrifcio, pedras e pedaos de ferro so manipulados com
o maior cuidado, o oficiante tomando cuidado para no deix-los cair, colocando-os delicadamente sobre o
cho. Esses gestos fazem eco aos cuidados atentos prodigalizados ao sacrificante no curso do ritual.
22 Assim, duas espcies animais percebem affordances diferentes no mesmo objeto.
129
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 129 25/07/2013 09:08:48
arnaud halloy
tamanho, em seus usos ordinrios, convida (afford) projeo, ao encaixe,
ao entrechoque mais ou menos violento com outros objetos (ou com indiv-
duos, se ela utilizada como uma arma). Ora, nos quadros do culto estudado,
observa-se que as ots e ferramentas so objetos de um tratamento oposto:
esses objetos no podem, em nenhum caso, ser entrechocados ou projetados.
Eles no so, tampouco, utilizados como uma arma, nem como uma utens-
lio tcnico. preciso mesmo, como vimos, trat-los com cuidado. Assim, o
desvio de uso diante de certas affordances naturais do objeto figuraria en-
tre os traos caractersticos desses objetos cultuais. Michael Tomasello (2004,
p. 83) descreve essa nova qualidade dos objetos como sua disponibilidade
intencional,23 que seria, principalmente, adquirida por imitao e que impli-
ca a considerao, pelo aprendiz, das relaes intencionais que os outros en-
tretm com o mundo por meio do artefato. Pierre Linard (2005, p. 295) utiliza,
quanto a ele, a expresso de affordance derivada para descrever esse novo
potencial de ao obtido por um processo de ritualizao de comportamen-
tos ordinrios.
Mas outros procedimentos, mais amplamente utilizados atravs de diver-
sas tradies rituais, foram descritos por Maurice Bloch (1998) e Pierre Linard
(2006) em suas respectivas pesquisas sobre os laos entre objetos e ao ritual.
Para Maurice Bloch (1998, p. 57, traduo nossa), o simbolismo religioso produ-
zido em numerosas tradies no curso da atividade ritual parece diretamente
concernido por coordenaes e passagens entre seres vivos e artefatos que,
de certo modo, replicariam o que ele chama as sequncias fundamentais do
desenvolvimento cognitivo dizendo respeito aos processos essenciais da vida
humana.
Quanto a Pierre Linard, ele avana a anlise um passo adiante, apontando
para certos mecanismos cognitivos potencialmente em ao em tais mudan-
as de apreenso. A partir de seu estudo do rito sacrificial entre os Turkana
do Qunia, sugere que o sacrifcio Turkana ativa pressuposies especficas a
propsito das diferenas entre os seres vivos e os artefatos, desviando-os (LI-
NARD, 2006, p. 344, traduo nossa). Ele mostra, notadamente, que os animais
23 Que ele diferencia de sua disponibilidade sensrio-motora, que corresponderia s affordances naturais de
Gibson (1979).
130
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 130 25/07/2013 09:08:49
incorporar os deuses
sacrificiais parecem manipulados no como seres vivos, caracterizados pela
partilha de uma essncia comum, mas como artefatos, na medida em que eles
so categorizados e conceitualizados enquanto membros de uma classe funcio-
nal. (2006, p. 352) Inversamente, as partes do animal resultantes do ato sacrifi-
cial parecem, quanto a elas, ter adquirido uma qualidade essencial, que seria
prpria dos seres vivos.24 (LINARD, 2006, p. 355)
Pierre Linard coloca ento a questo que aqui nos interessa diretamente
dos efeitos cognitivos e emocionais da ativao simultnea por um mesmo ob-
jeto (dotado de uma essncia) ou um mesmo ser vivo (ao qual destinamos uma
funo), desses dois mecanismos inferenciais no facilmente, ordinariamente e
naturalmente associados. (2006, p. 356) A manipulao de tais hbridos cogniti-
vos, nos diz ele, que se trate de seres vivos artefactuais ou de artefatos essen-
cializados (LINARD, 2006, p. 370), teria por principal virtude captar a ateno.
Eles adquiririam, graas a esse dispositivo ritual (ritual device), uma salincia
cognitiva que os tornariamais aptos a serem integrados a uma tradio cultural. O
efeito cognitivo de tais cenas rituais, acrescenta ele, seria tanto mais importante
do que as manipulaes rituais desses objetos seriam longas e intricadas.25
Tal anlise , a meus olhos, perfeitamente transponvel ao Xang de Recife.
Se considerarmos os ots e as ferramentas compondo o altar das divindades
como simples objetos naturais ou artefatos, eles so conduzidos a serem apre-
endidos no mais unicamente enquanto membros de uma classe funcional,
mas como uma fonte de intencionalidade propriamente falando. Em outras
palavras, de objeto manipulado, o ot ou as ferramentas tornam-se objetos ca-
pazes de manipulao. Como explicar um tal desvio ontolgico? Sugiro que
ele o resultado da insero desses objetos em um dispositivo ritual caracte-
rizado, como descrito acima, pela contiguidade, a concomitncia e o isomor-
fismo, entre tratamentos artefatuais e tratamentos corporais. O iniciado que
v tais objetos sistematicamente associados manipulao de sua cabea e
24 A abordagem dos objetos cultuais proposta por Pierre Linard se inscreve nos quadros mais amplos de uma
teoria modularista da cognio, que pressupe que desenvolvemos intuies e expectativas especficas
relativas a certos domnios da existncia, nesta caso, os artefatos e os seres vivos. Para um desenvolvimento
desta perspectiva cognitivista em antropologia, o leitor poder se referir aos trabalhos de Scott Atran (1990),
Dan Sperber (1996) e Pascal Boyer (2001), para citar apenas os mais conhecidos.
25 Um tal elo entre complexidade ritual e efeitos cognitivos e emocionais parece, igualmente, revelado no que
concerne fora da possesso. Ver, notadamente, Bertrand Hell (2008, p. 21).
131
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 131 25/07/2013 09:08:49
arnaud halloy
de seu corpo, que v seus tratamentos responderem a gestos estranhamente
similares, vem a perceber tais objetos como verdadeiros prolongamentos de
seu prprio corpo.26 A frequente associao entre tais manipulaes e o transe
de possesso vm, quanto a ela, reforar a identificao entre esses objetos e o
orix ou, mais precisamente, entre esses objetos e a capacidade atribuda aos
orixs de agir sobre o corpo do iniciado por sua manipulao ritual. A intencio-
nalidade atribuda s pedras e pedaos de ferro resultar, assim, de um duplo
movimento identificatrio (Rouget, 1990) desses objetos com, de um lado,
o corpo do iniciado, e, de outro, seu orix.
Nos quadros do Xang, parece-nos possvel prolongar a anlise de tais
desvios ontolgicos ai incluindo os prprios incorporados ou manifesta-
dos. Com efeito, o iniciado no escapa a essa telescopagem ontolgica, na
medida em que, no curso da possesso, parece ser reduzido sua pura corpo-
reidade. Segundo a expresso mais frequentemente utilizada pelos membros
do culto, ele se torna matria para o orix, um simples suporte carnal atravs
do qual a divindade poder se exprimir. A essa mudana de apreenso cor-
responde uma reorientao radical na atribuio de intencionalidade: no
mais o iniciado que supe-se estar no comando de seu prprio corpo, mas
seu orix que possui sua prpria histria, sua prpria motricidade, seu pr-
prio carter e seus prprios desideratos. como se o encontro entre o ini-
ciado e sua divindade necessitasse de uma etapa prvia no curso da qual o
primeiro seria reduzido a um simples receptculo de carne e osso.
Para resumir, vimos que a forma dos tratamentos de certos objetos cultuais
tende a distorcer sua apreenso, assim como as expectativas intuitivas a seu
respeito desviando (Boyer, 2008) certos processos inferenciais e as possibi-
lidades de ao que lhes so associadas. Tal reorientao no , todavia, o mero
fato dos objetos cultuais e de sua manipulao ritual. Proponho, agora, anali-
sar a incidncia de certas formas de ao ritual sobre a possesso enquanto tal.
26 Roger SansiRoca (2005, p.44) qualifica esses objetos de rgos exteriores do indivduo. Alfred Gell (1998), na
esteira de Marylin Strathern (1998), fala, quanto a ele, de pessoa distribuda, enquanto Anne-Marie Losonczy
(comunicao pessoal) utiliza a noo de corpo compsito.
132
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 132 25/07/2013 09:08:49
incorporar os deuses
A dimenso somtica da possesso religiosa
O conjunto dos rituais destinados aos orixs (e que, por consequncia, so sus-
cetveis de desembocar na possesso) se caracterizam por tratamentos inten-
sos do corpo do iniciado.27 Ora, seus sentidos no so estimulados de maneira
aleatria. Bem ao contrrio, a mobilizao sensorial resulta de tratamentos
precisos do corpo, que correspondem a gestos e atitudes altamente ritualiza-
dos. Ora, certas propriedades dessas aes no so sem consequncia sobre o
processo de engendramento e de aprendizagem da possesso.
Dupla captura e assinatura somtica do orix
Um trao evidente (Rappaport, 1999) de toda ao ritual sua regularidade,
entendida no duplo senso de em conformidade a uma ao passada as aes
rituais so, por essncia, convencionais28 e de ser repetitiva vrias dentre
elas so reiteradas a intervalos de tempo regulares29 e no curso de um mesmo
ritual.30 Como esse trao cardinal da ao ritual seria capaz de influenciar o pro-
cesso de aprendizagem da possesso?
Em resumo, sugiro que a regularidade das aes ritualizadas capaz de
criar um ambiente prprio para facilitar e reforar um processo associativo, de-
sembocando numa dupla captura. A captura sensorial31 remete centragem
atencional32 do possudo, s sensaes e emoes provocadas pelos tratamen-
tos corporais e/ou atuao de seu orix sobre seu prprio corpo no curso
da atividade ritual. Citemos, guisa de exemplo, as informaes tteis asso-
ciadas ao sangue quente do animal sacrificial despejado sobre os ombros do
iniciado, o odor da decoco de folhas durante o amas, o ambiente sonoro
27 A descrio anterior do amas e do rito sacrificial oferece uma breve ilustrao desse ponto.
28 Essa definio da convencionalidade remete diretamente ao aspecto arquetpico das aes rituais tal como
descrito por Humphrey e Laidlaw (1994). Ela faz igualmente eco noo de sintaxe ritual (STAAL, 1979), ou
ainda, quela de script (BOYER, 2001), que faz mais referncia ao formato cognitivo das aes rituais.
29 o caso, como vimos, da maior parte dos rituais que esto compondo o percurso inicitico e que so reitera-
dos cada ano pelas divindades de cada iniciado.
30 Isso que Lvi-Strauss (1971) identificou como um dos dois principais traos de toda ao ritual, o segundo
estando em fracionamento.
31 Bertrand Hell (2008, p. 21) utiliza igualmente a noo de captura sensorial sem, entretanto, propor-lhe uma
definio. evidente que a definio sugerida aqui no engaja seno a mim.
32 A ideia de uma centragem atencional nas sensaes internas faz diretamente referncia noo de absoro,
que certos autores consideram como a pedra angular do fenmeno de possesso. (LUHRMANN, 2004)
133
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 133 25/07/2013 09:08:49
arnaud halloy
e as informaes proprioceptivas associadas dana no curso das cerimnias
pblicas, etc. Quanto aos afetos e perceptos atribudos atuao do orix so-
bre seu filho, eles se declinam em um continuum de estados mentais e somti-
cos que variam em qualidade e intensidade. Uma primeira srie de expresses
sublinha o carter imperioso da ao da divindade sobre seu filho. O que se
diz respeito dela que ela toma, que ela se manifesta, que ela incorpora,
ou, mais geralmente, que ela atua sobre ele. Uma segunda srie que nos in-
teressa diretamente procura descrever os signos precursores que anunciam a
possesso completa, chamada manifestao. Esse estado preliminar, nome-
ado irradiao ou aproximao, identificado por uma srie de sintomas33
potencialmente recorrentes entre a maior parte dos irradiados, tais como os
longos calafrios partindo da coluna, os arrepios, as vertigens, os formigamen-
tos nas extremidades dos membros, os tremores incontrolveis, ondas de calor
ou sensao de frio, a vontade de chorar sem razo, as perturbaes da viso e
da audio.34 A possesso , assim, conceitualizada como o resultado de uma
interao entre uma divindade e o corpo de seu filho, cujo resultado mais sa-
liente uma forma de perturbao (sensorial e emocional) dos estados do corpo
deste ltimo.
A segunda captura, que chamo simblica, tem por virtude enriquecer a
captura sensorial com a imaginao, conferindo-lhe senso. A captura simbli-
ca repousaria em um processo inferencial, atravs do qual os pensamentos e a
imaginao do iniciado so reorientados pelo contedo altamente evocatrio
dos cantos e invocaes que acompanham todas as aes rituais,35 assim como
dos objetos e substcias rituais manipuladas. Certas injunes endereadas
aos iniciados indisciplinados, tais como concentrem-se em seu orix!, par-
ticipam, igualmente, dessa educao da ateno (Ingold, 2001) e reorien-
tao inferencial. Esse processo remete ao que Gilbert Rouget (1990) chama a
33 O termo sintoma no se reveste aqui de nenhuma conotao mrbida. Ele designa os signos visveis da mu-
dana de estado do corpo que se supe estar engendrado pela ao da divindade.
34 Entre as mudanas de estado do corpo, as mais frequentemente descritas pelo irradiado, encontram-se os
longos e intensos arrepios provocados pela aproximao do orix. Tais arrepios so claramente assimilveis a
uma reao emocional. A dimenso emocional dos estados de irradiao , alis, corroborada pelo testemu-
nho dos irradiados que no pude incluir aqui sobre essa etapa do desencadeamento da possesso. Para
uma verso mais completa deste argumento, junto com testemunhos, ver Halloy (2012).
35 Sobre o poder altamente evocatrio dos cantos dirigidos aos orixs, ver Carvalho (1993).
134
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 134 25/07/2013 09:08:49
incorporar os deuses
identificao com a divindade. Uma tal identificao instala-se ao mesmo
tempo que a exposio corporal aos tratamentos rituais especficos, instauran-
do um couplage entre as dimenses simblicas (a imaginao) e somticas
(as sensaes e emoes) da experincia religiosa.
Uma consequncia direta de tal processo a criao de uma assinatura so-
mtica do orix, quer dizer, uma configurao sensorial e emocional reconhec-
vel pelo iniciado como o marcador da atuao da divindade sobre seu prprio
corpo. Esta assinatura no nica: ela permanece modulvel atravs dos est-
mulos sensoriais e emocionais prprios a cada ritual, mas tambm atravs da
familiaridade crescente do iniciado com a possesso. Assim, a assinatura som-
tica do orix se distingue das emoes e sensaes comuns pelo fato de que ela
implica em uma configurao sensrio-motora e emocional prpria da expe-
rincia da possesso, e que esta reconhecida pelo iniciado (e os membros do
culto) como sendo o resultado da interao entre o orix e o corpo de seu filho.
O couplage das capturas sensorial e simblica figura, me parece, entre os
mais poderosos procedimentos mobilizados no curso da atividade ritual a fim
de induzir a possesso e/ou seus signos precursores. Sua eficcia, como vimos,
repousaria amplamente na forma da ao ritual, caracterizada pela convencio-
nalidade e a repetitividade. Mas ela se apoia igualmente sobre uma propriedade
da possesso: sua alta contagiosidade. Os membros do culto sublinham esse as-
pecto da possesso pela expresso um orix chama um outro. Com efeito, no
raro observar entradas em transe simultneas em vrios iniciados no curso das
cerimnias pblicas ou privadas. Nesse caso, a dupla captura age em primeiro
lugar enquanto signo para outrem, que percebe as mudanas somticas no
irradiado ou manifestado e reconhece nessas mudanas a atuao de um
orix. Essa percepo da dupla captura no outro age, assim, como input para o
mesmo processo de engendramento, desta vez no observador. Essa ateno que
se poderia qualificar emptica autri, motor da contagiosidade emocional,
particularmente visvel entre os iniciados que, no momento dos primeiros si-
nais da irradiao em um manifestado potencial, voltam sua ateno para
ele e, o mais frequentemente, se investem com um entusiasmo redobrado no
canto e na dana, saudando o orix com gritos de alegria. O resultado esperado
no somente a possesso da pessoa em questo, mas, potencialmente, a sua
prpria. No iniciador, ao contrrio, observa-se um certo distanciamento emo-
135
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 135 25/07/2013 09:08:49
arnaud halloy
cional que se exprime, notadamente, pela exibio de toda sua habilidade litr-
gica (atitude mais autoritria vis a vis do orix, amplificao de certos gestos,
modulaes da voz, etc.) a fim de intensificar os primeiros sintomas da posses-
so e de provocar, assim, a manifestao.
Duas tendncias na evoluo da dinmica da dupla captura podem ser,
de um outro modo, identificadas.
Uma primeira tendncia quer que o engendramento da possesso nos no-
vios necessite de uma estimulao sensorial e/ou emocional mais intensa que
nos possudos mais experientes. Com efeito, as primeiras possesses ocorrem
frequentemente no tempo forte da ao ritual, quando o iniciado submetido
a tratamentos rituais intensos (durante cerimnias privadas) ou quando o cl-
max emocional atingido (durante cerimnias pblicas). Entre os possudos
mais experientes, em revanche, um s elemento da configurao sensorial di-
retamente associado ao seu orix (um odor, uma imagem, uma sequncia rt-
mica tocada nos tambores, uma invocao, uma entonao de voz...) pode ser
suficiente para desencadear o conjunto do processo. Uma segunda tendncia
quer que os possudos experientes tendam a ser mais ativos no desencadea-
mento de sua prpria possesso, mas, tambm, que eles controlem mais sua
expresso segundo os critrios expressivos culturalmente valorizados. Assim,
pude observar a manifestao do orix de chefes de culto em situaes litr-
gicas problemticas36 ou, ainda, em todo comeo de cerimnia pblica, quando
o orix do possudo deve se retirar para reaparecer mais tarde na noite, vestido
com seus melhores aparatos. Tais possesses, particularmente bem adaptadas
ao desenrolar litrgico, e conforme as expectativas tanto normativas quanto
estticas do transe de possesso, deixam pensar que o possudo desempenha
um papel mais ativo no desencadeamento de seu prprio transe.
Em resumo, minha proposio que o deslocamento no curso desse du-
plo eixo, conduzindo o aprendiz da possesso da passividade ao controle, e de
uma relao de dependncia com uma forte intensidade sensorial para uma
sensibilidade e uma reatividade emocional mais finas, se desenvolve graas ao
36 Um exemplo significativo o do orix de um iniciador que se manifesta para se assegurar de dar o nome do
orix de um de seus iniciados que permanecia (anormalmente) mudo quando da cerimnia pblica de dao
do nome, que tem lugar ao final da recluso inicitica.
136
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 136 25/07/2013 09:08:49
incorporar os deuses
couplage entre certas sensaes e emoes singulares induzidas pela forma
da ao ritual (captura sensorial) e por um processo identificatrio (captura
simblica) apoiado, quanto a ele, no poder altamente evocatrio dos cantos,
das invocaes dedicadas ao orix do iniciado37 e dos objetos e substncias ma-
nipuladas no momento do engendramento da possesso.
Suspenso intencional e deixar-se levar
Um segundo trao, talvez menos evidente, das aes ritualizadas a desco-
nexo entre as sequncias de ao que compem um ritual e o fim (explci-
to) perseguido por ele (Linard; Boyer, 2006). Como Pascal Boyer defende,
mesmo se a maior parte dos rituais tem um fim especfico (por exemplo, li-
berar algum da influncia de um mau esprito), o grupo de sequncias que
compem o ritual no so conectadas ao seu objetivo da mesma maneira que
as sub-aes so conectadas aos sub-fins no comportamento comum. (Li-
nard; Boyer, 2006. p. 816)
Uma tal desconexo ente a ao e seu fim tende, me parece, a induzir
uma atitude mental favorvel ao engendramento da possesso.38 O novio ou
o iniciado candidato possesso, com efeito, se v engajado em aes das
quais ele no compreende necessariamente o senso ou o alcance exato. Ele
ter, ento, tendncia a colocar em suspenso sua prpria intencionalidade a
fim de se conformar aos atos a cumprir. (Humphrey; Laidlaw, 1994) Nesse
contexto da possesso, um colocar em suspenso pode prefigurar um dei-
xar-se levar mais profundo, propcio emergncia da possesso que, recor-
do, conceitualizada como a atuao (irreprimvel), sobre o corpo e a cons-
cincia da pessoa, de uma intencionalidade exterior, na ocorrncia, seu orix.
Se, como defendo, certas propriedades das aes ritualizadas favorecem
efetivamente o engendramento e a aprendizagem da possesso, elas sero
37 Infelizmente no possvel aqui reunir o conjunto de elementos etnogrficos que apoiam esta proposio.
Desenvolvo-o, todavia, tanto no plano terico quanto etnogrfico, em um artigo e um livro em processo de
redao.
38 Sou amplamente devedor dos comentrios esclarecedores de Franois Berthom a respeito de uma primeira
verso desse texto quanto formulao dessa hiptese. A presente formulao, bem entendido, no engaja
seno que a mim.
137
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 137 25/07/2013 09:08:49
arnaud halloy
mais eficazes caso elas se desenvolvam em um contexto relacional favorvel
emergncia da possesso.
A dimenso interacional da possesso religiosa
Nesta ltima sesso, que corresponde ao terceiro polo pragmtico da posses-
so, sugiro que a forma das interaes instauradas no curso da atividade ri-
tual entre o iniciado, seus iniciadores e a assembleia de pessoas presentes ,
ela tambm, propcia ao engendramento da possesso. No caso que nos ocupa,
esta configurao pode ser caracterizada, de um lado, por uma condio pa-
dro e, de outro lado, pela condensao de relaes que, em contextos co-
muns, aparecem como mutuamente exclusivas. (Houseman; Severi, 1994)
Uma consequncia central dessa configurao relacional sobre a atitude do
iniciado , como procurarei explicitar, um engajamento paradoxal, pois ani-
mado, ao mesmo tempo, por motivaes de agir e de injunes passividade.
Comecemos nossa anlise pelo que nos apareceu como um valor relacional in-
dispensvel atividade cerimonial do Xang.
Uma condio padro: a confiana
Como j assinalado na anlise precedente da dimenso material da eficcia
ritual, existe um valor relacional padro para o bom funcionamento ceri-
monial: a confiana do iniciado para com seu iniciador. O iniciador , im-
portante lembrar, o mediador privilegiado e indispensvel entre o iniciado e
seus orixs. A relao de confiana do iniciado para com seu iniciador , na
verdade, dupla. Primeiramente, o iniciado se remete percia ritual de seu ini-
ciador, que ele julga capaz de intervir eficazmente junto s suas divindades. Em
segundo lugar, ele se fia s boas intenes do chefe de culto quanto a ele, pois
aquele detm os objetos e a habilidade necessrios para atingi-lo em seu cor-
po e esprito. Mas, para alm dessa condio padro, as interaes instauradas
pela ao ritual entre o iniciado, seus iniciadores e a assembleia correspondem
a uma configurao relacional que, me parece, favorece diretamente o engen-
dramento da possesso.
138
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 138 25/07/2013 09:08:49
incorporar os deuses
Possesso e condensao ritual
A fim de descrever a especificidade desta configurao, recorrerei noo de
condensao ritual tal como desenvolvida por Michael Houseman e Carlo Se-
veri (1994) em sua magistral reinterpretao do ritual do Naven dos Iatmul de
Papua-Nova Guin. (Bateson, 1958) Segundo esses autores, a condensao
ritual corresponde a um processo simblico para o qual os comportamentos
e atitudes rituais se veem caracterizados pela condensao de papis e de re-
laes que, habitualmente, so postas como mutuamente exclusivas. (HOUSE-
MAN; SEVERI, 1994, p. 196-197) Em um estudo recente, Carlo Severi utilizou essa
noo mostrando que uma parte importante da eficcia dos rituais xamnicos
amerndios relaciona-se capacidade do xam em se tornar um enunciador
complexo, ou seja, uma espcie nica e inesperada de enunciador, constituda
por uma srie de conotaes que indicam simultaneamente os espritos aliados
e os espritos inimigos, os vegetais e os animais, o adivinho sbio representado
pela rvore Balsa e o Jaguar do Cu. (SEVERI, 2007, p. 222) Observa-se um tal
procedimento ritual no caso da possesso do Xang de Recife?
Contrariamente ao xam, o possudo no pode deixar transparecer a me-
nor ambiguidade quanto sua identidade: ele se torna o orix que, quando da
manifestao, que se espera que apague todo trao da personalidade de sua
matria. O grito sinalizador que marca a manifestao dos deuses no corpo
do iniciado, sua motricidade altamente codificada, assim como as formas de
saudao e a maneira pela qual dirigimo-nos a eles, lembram, permanentemen-
te, com quem se lida: tanto o comportamento dos possudos quanto aquele das
pessoas presentes torna claro e tende a confirmar uma substituio identitria
total.39 Todavia, se o manifestado no d a ver nenhuma espcie nica e ines-
perada de enunciador, o contexto relacional prprio possesso no Xang de
Recife parece, quanto a ele mesmo, induzir a uma condensao especfica das
relaes entre os diferentes atores (humanos e divinos) implicados.
De um lado, com efeito, o candidato possesso potencialmente todo
iniciado explicitamente sujeitado a uma dupla autoridade:
39 A partir de dados etnogrficos e experimentais, Emma Cohen (2007, 2008) tambm defende a hiptese da
substituio total de uma personalidade pela outra na percepo da possesso. Vale lembrar aqui que se trata
de um ideal cerimonial que deve ser nuanado por uma descrio etnogrfica mais exaustiva do processo
de aprendizagem da possesso.
139
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 139 25/07/2013 09:08:49
arnaud halloy
a autoridade de seu iniciador masculino que invoca e se dirige sua divin-
dade, convidando-a por vezes de maneira forte e insistente a descer no
seu filho ou filha;
a autoridade ou, melhor, a vontade de seu prprio orix que, segundo os
membros do culto, aquele que, ao final, decide quando e como vai se ma-
nifestar.
De outro lado, a iniciadora se mostra, geralmente, confortadora, procuran-
do tranquilizar um iniciado muito ansioso ou simplesmente temperando com
sua presena tranquila os momentos fortes da ao ritual.40 Seu papel, mais dis-
creto que aquele do iniciador masculino, no , no entanto, menos importante.
Se, de fato, o transe de possesso procurado e valorizado no culto, no se trata,
no entanto, de uma experincia privada de ansiedade, ou mesmo de reticncia
daquele que nela se engaja. Jnior, um jovem chefe de culto, que j desfruta
de uma longa experincia de possesso, confessou-me boca pequena41 que
ele preferiria se subtrair possesso cada vez que tivesse oportunidade,42 pois
achava horrvel a perda de controle de seu prprio corpo, assim como a in-
certeza quanto aos feitos e gestos de seu orix. Alm de confortar o candidato
possesso, a me-de-santo tambm chame ordem um iniciado distrado ou
indisciplinado, incitando-o a permanecer ligado em seu vivido imediato e a
adotar um comportamento mais apropriado.
Quais so as consequncias desta configurao singular sobre a atitude do
iniciado?
Um engajamento paradoxal
Uma primeira consequncia psicolgica da interao duplamente submetedo-
ra o reforo da atitude de passividade do iniciado: a situao no est sob seu
40 Em um artigo publicado em um livro consagrada ao transe e hipnose, Luc de Heusch (1995) insiste na forte
relao afetiva de maternagem que liga o possudo aos seus iniciadores ou ao mestre de cerimnia, e que
produz, citando Jean Rouch (1955), uma intensa sugesto, tornando assim a funo de um sacerdote prxima
daquela de um hipnotizador. Bertrand Hell (2008) retoma e desenvolve uma perspectiva similar a partir de
dados recentes obtidos nas neurocincias sobre a hipnose e os estados hipnoides.
41 Trata-se, nesse gnero de confidncia, de no melindrar sua divindade...
42 O emprego do condicional sublinha a eficcia sempre relativa de tais prticas, pois, se um iniciado experiente
capaz de repelir uma possesso iminente, essa proeza no , geralmente, seno temporria e , frequente-
mente, seguida por uma possesso ainda mais intensa. Certos orixs, importante assinalar, utilizam a posses-
so para punir fisicamente seu filho, seja por gestos de automutilao ou atravs de uma dana extenuante.
140
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 140 25/07/2013 09:08:49
incorporar os deuses
controle, mas bem nas mos de seu iniciador masculino que dirige a ao ritu-
al e se dirige ao orix, e do prprio orix, que pode se aproximar ou se ma-
nifestar no seu corpo a qualquer momento.43 Outra consequncia, talvez me-
nos visvel, mas tambm real para o iniciado, resultaria da incitao implcita
ao engajamento contida na insistncia do iniciador. J sublinhei, vrias vezes,
o carter altamente valorizado da possesso no Xang. preciso acrescentar
a este valor cultural as motivaes individuais para ver o iniciado possudo.
A manifestao do orix no uma condio para o xito do ritual, mas cor-
responde ao que me foi descrito como uma satisfao para o possudo, que
se beneficia da notoriedade de seu orix no seio da comunidade de culto, e
como uma gratificao para o iniciador, que reafirma, assim, sua habilida-
de litrgica, que contribui para seu renome pessoal e para a boa reputao de
sua casa de culto. A possesso no , pois, somente valorizada; ela altamen-
te desejvel, tanto para o iniciado quanto para seu iniciador. Compreende-se
melhor a insistncia deste ltimo em provocar a possesso, do mesmo modo
que a injuno implcita que ela traduz, incitando seus iniciados a desenvolver,
segundo as competncias de cada um, diversas tcnicas de autoinduo, das
quais viu-se, precedentemente, alguns exemplos.44
Do lado da iniciadora, a atitude reconfortante da qual ela d provas ins-
taura um clima de confiana, encorajando o iniciado a tender a um deixar-
-se levar propcio possesso. Mas seu papel litrgico, como vimos, consiste,
igualmente, em chamadas ordem do iniciado, cujo comportamento deixaria
a desejar. Este outro aspecto do comportamento da me-de-santo sublinha a
importncia de permanecer conforme as expectativas culturais relativas ao en-
gendramento e expresso da possesso.
Em resumo, observa-se, portanto:
uma forma de condensao ritual marcada pela co-presena de duas relaes
que, em um contexto de comunicao comum, aparecem como mutuamente
exclusivas (sujeio e maternagem);
43 A vinda do orix em um iniciado dependeria, assim, de uma dinmica sempre ajustvel entre a competncia
de seu iniciador e a vontade de seu orix.
44 Engajamento redobrado nas aes motoras (canto, dana), tcnicas de absoro, focalizao emptica sobre
outrem... Para uma descrio mais sistemtica das tcnicas do corpo (MAUSS, 2001) e da mente potencial-
mente desenvolvidas por possudos mais experimentados, ver Halloy (2012).
141
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 141 25/07/2013 09:08:49
arnaud halloy
uma forma de engajamento paradoxal marcada pela tenso entre passividade
(deixar-se levar, perda de controle) e engajamento (satisfao, gratificao
e conformidade).
A assembleia , tambm, capaz de desempenhar um papel adjuvante no
engendramento da possesso, seja por seu engajamento redobrado na ao ri-
tual, quando dos primeiros signos da possesso, ou ainda graas ao contgio
emocional que se observa frequentemente no curso de rituais com possesso
(veja acima).45
Enfim, notamos a relao ambivalente entre o pai-de-santo e o orix. De um
lado, o orix considerado como sendo a autoridade ltima: ele soberano na
hora de tomar as decises dentro do terreiro seja durante a possesso ou atra-
vs da consulta do orculo. Mas, ao mesmo tempo, ele deve obedincia ao pai-
-de-santo e deve se comportar conforme as expectativas rituais. Do outro lado,
o pai-de-santo deve se submeter s decises do orix e, ao mesmo tempo, ele
sempre est aprendendo sobre o comportamento e o saber delivrado pelas divin-
dades, seja para sua prpria possesso, seja para lidar com eles.
A configurao relacional descrita acima poderia ser esquematicamente
representada como na figura 2.
Figura 2 - A configurao relacional da possesso no Xang
Incorporar os deuses
Assujeitamento
Orix (controle corporal)
Engajamento paradoxal
Assujeitamento
Iniciador (controle corporal/injuno)
Iniciado Possesso
Encorajamentos/
Iniciadora Cuidados materiais
contgio emocional
(conforto/conformidade)
Assemblia
45 Como me foi sugerido por Julien Bonhomme, uma anlise completa da configurao relacional da possesso
necessitaria desenvolver todas as relaes (mesmo virtuais) entre os diferentes agentes presentes na situao
(iniciado, iniciador, iniciadora, orixs, assembleia, msicos). Contentei-me aqui com uma anlise sinttica das
interaes relativas ao candidato possesso.
142
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 142 25/07/2013 09:08:49
incorporar os deuses
Concluso
Retomemos nossa questo de partida: Que fazem os rituais queles que deles
participam?.
Eles os transformam.
Como?
O presente estudo da possesso religiosa no culto Xang de Recife sugere
que uma tal transformao opera, principalmente, atravs de um processo de
incorporao que repousa amplamente sobre a forma da ao ritual prpria a:
desviar certas operaes cognitivas intuitivas;
operar um estreito couplage entre sensorialidade e atribuio de sentido;
condensar relaes comumente percebidas e vividas como mutuamente ex-
clusivas e suscetveis de induzir uma forma paradoxal de engajamento ritual.
Tal abordagem da possesso religiosa aporta, em troca, uma iluminao
original sobre a eficcia ritual em geral, na medida em que permite sugerir por
quais dispositivos pragmticos e processos cognitivos as formas singulares da
experincia so produzidas no concreto das aes e interaes rituais.
Assim considerada, a incorporao no seria apangio dos manifesta-
dos do Xang ou de outros cultos de possesso, mas designaria um processo
constitutivo pelo qual contextos de comunicao e formas da ao so capazes
de instaurar maneiras de ser no mundo e modos relacionais inditos nos indi-
vduos que nela se engajam. Se tal processo revela-se particularmente visvel
na possesso religiosa, ele estaria, igualmente, em ao em toda situao ri-
tualizada, seja de natureza religiosa ou tambm, pode-se presumir, teraputi-
ca. Desde 1958, Claude Lvi-Strauss sublinhava os numerosos paralelos entre
o contexto xamnico de cura de uma parturiente em dificuldade e uma con-
sulta psicoteraputica ocidental. Enquanto Lvi-Strauss insistia na dimenso
simblica da troca entre a paciente e o xam, Carlo Severi, retornando sua
etnografia e seus argumentos, sugere que os efeitos teraputicos revelados na
sesso descrita no podem repousar, como Lvi-Strauss sugeria, sobre a cria-
o de uma linguagem nova atravs da qual o sofrimento seria apreendido e
controlado, to simplesmente porque a paciente em questo no compreendia
a lngua (secreta e enigmtica) empregada por seu curandeiro. Ele sugere, en-
to, que os efeitos teraputicos da sesso descrita devem ser procurados mais
143
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 143 25/07/2013 09:08:49
arnaud halloy
no contexto de enunciao, assim como nos aspectos latentes do que o tera-
peuta enuncia. (SEVERI, 2007, p. 254) Nesse caso, a eficcia do canto xamnico
Cuna tenderia aos sons da linguagem e maneira pela qual a parturiente lhe
confere um senso totalmente pessoal a partir de fragmentos sonoros e/ou ges-
tuais conhecidos. No plano terico, este exemplo, tanto quanto nossa anlise
da possesso no culto Xang de Recife, ilustram a necessidade de levar em con-
ta as condies da ao para explicar a transformao dos indivduos no curso
dos rituais dos quais tomam parte. No plano acadmico, estas pesquisas subli-
nham a riqueza potencial de um dilogo mais sustentado entre a antropologia
e os diversos mtodos e teorias psicoteraputicas.
Referncias
Augras, M. Le double et la mtamorphose: lidentification mythique dans le
candombl brsilien. Paris: Meridiens Klincksieck, 1992.
Atran, S. Cognitive Foundations of Natural History. Cambridge: Cambridge University
Press, 1990.
BASTIDE, Roger.As religies africanas no Brasil. So Paulo: Pioneira, 1989.
Bateson, G. Naven: a survey of the problems suggested by a composite picture of the
culture of a New Guinea Tribe drawn from three points of view. Stanford: Stanford
University Press, 1958.
Bloch, M. Domain-Specificity, Living Kinds and Symbolism. In: ________. How We
Think They Think. New York: Westview Press, p. 54-64, 1998.
Bloch, M. Why trees, too, are good to think with. In: _________. Essays on Cultural
Transmission. Oxford, New-York: Berg, p. 21-38, 2005.
Boyer, P. Et lhomme cra les dieux: comment expliquer la religion, Paris: Robert
Laffont, 2001.
Boyer, P. Religion: Bound to believe?. Nature, v. 455, p. 1038-1039, 2008.
CARVALHO, J. J. de. Aesthetics of opacity and transparence: myth, music and ritual in
the Xang Cult and in Western art tradition. Latin America Music Review, Texas, v. 14,
n. 2, p. 202-229, 1993.
Carvalho, J. J. de. A fora da nostalgia: a concepo de tempo histrico dos cultos
afro-brasileiros tradicionais. Religio e Sociedade, v. 14, n. 2, p. 36-61, 1987.
Cohen, E. The mind possessed: the cognition of spirit possession in an afro-brazilian
religious tradition. London: Oxford University Press, 2007. (Anthropology of Religion)
144
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 144 25/07/2013 09:08:49
incorporar os deuses
Cohen, E. When minds migrate: conceptualizing spirit possession. Journal of
Cognition and Culture, v. 8, p. 23-48, 2008.
Durkheim, E. Les formes lmentaires de la vie religieuse: le systme totmique en
Australie, Paris: Livre de Poche, 1991.
GELL, A. Art and Agency: Towards a New Anthropological Theory. London: Oxford
University Press, 1998.
Gibson, J.J. The ecological approach to visual perception. Boston: Houghton Mifflin,
1979.
Goldman, M. A construo ritual da pessoa: a possesso no candombl. In: Moura,
C. E. M. de (Org.). Candombl: desvendando identidades, So Paulo: EMW Editores,
p. 87-120, 1987.
Halloy, A. Gods in the Flesh: outline of an emotional learning process in the Xang
possession cult (Recife, Brazil), Ethnos. Journal of Anthropology, v. 77, n. 2, p. 177-202,
2012.
Halloy, A. Objects, bodies and gods. A cognitive ethnography of an ontological
dynamics in the Xang cult (Recife Brazil). In: Making Spirits Materiality and
Transcendence in Contemporary Religions. London: I.B. Tauris (Tauris Academic
Studies). No prelo.
Hell, B. Ngocier avec les esprits tromba Mayotte. Retour sur le thtre vcu de la
possession. Gradhiva, v. 7, n. 7, p. 7-23, 2008.
Heusch, L. de. Possds somnambuliques, chamans et hallucins. In: Michaux, D.
(d.). La transe et lhypnose. Auzas: Editeurs IMAGO, p. 19-46, 1995.
Houseman, M. Vers un modle anthropologique de la pratique psychothrapeutique,
in: Thrapie familiale, Genve, v. 24, n. 3, p. 289-312, 2003.
Houseman, M.; Severi, C. Naven ou le donner de voir. essai dinterprtation de
laction rituelle. Paris: Chemins de lEthnologie, 1994.
Humphrey, C.; Laidlaw, J. The archetypal actions of ritual: a theory of ritual
illustrated by the jain rite of worship. Oxford: Clarendon Press, 1994.
Ingold, T. From the transmission of representation to the education of attention.
In: Whitehouse, H. The debated mind: evolutionary psychology vs. ethnography,
Oxford: Berg, 2001, p. 113-153.
Lpine, C. Os esteretipos da personalidade no candombl nag. In: Moura, C. E.
M. de (Org.). Candombl: religio do corpo e da alma. Rio de Janeiro: Pallas, p. 139-163,
2000.
LES MATRES fous. Documentrio. Direo: Jean Rouch. 1955. DVD (36 min).
Lvi-Strauss, C. Lefficacit symbolique. In: ________. Anthropologie Structural I. Paris:
Plon, 1958.
Lvi-Strauss, C. Lhomme nu, Paris: Plon, 1971. (Mythologiques, 4)
145
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 145 25/07/2013 09:08:49
arnaud halloy
Linard, P. The making of peculiar artifacts: Living Kind, artifact and social order in
the Turkana Sacrifice. Journal of Cognition and Culture, v. 6, n. 3-4, p. 343-373, 2006.
Linard, P.; Boyer, P. Whence collective rituals? A cultural selection model of
ritualized behavior. American Anthropologist, v. 108, n. 4, p. 814-827, 2006.
Luhrmann, T. Metakinesis: how god becomes intimate in contemporary U.S.
Christianity. American Anthropologist, v. 106, n. 3, p. 518-528, 2004.827).
Mauss, M. Les techniques du corps, Sociologie et anthropologie, Paris: Quadrige/PUF,
2001.
OPIPARI, C. Le Candombl: images en mouvement. So Paulo; Paris: LHarmattan, 2004.
ORO, A.P. Ax Mercosul: As Religies Afro-Brasileiras nos Pasedo Prata. Petrpolis:
Ed.Vozes, 1999.
Rappaport, R.A. Ritual and religion in the making of humanity. Cambridge: Cambridge
University Press, 1999.
Rouget, G. La musique et la transe, Paris: Gallimard, 1990.
Sansi-Roca, R. The hidden life of stones. Historicity, materiality and the value of
candombl objects in Bahia. Journal of Material Culture, v. 10, n. 2, p. 139-156, 2005.
Segato, R. Santos e daimones: o politesmo afro-brasileiro e a tradio arquetipal,
Braslia: Editora UNB, 1995.
Severi, C. Le principe de la chimre: une anthropologie de la mmoire, Paris: Rue
dUlm (presses de l ENS), Muse du Quai Branly, 2007. (Collection Aesthetica)
Sperber, D. La contagion des ides. Paris: Odile Jacob, 1996.
Sperber, D.; Wilson, D. La pertinence: communication et cognition. Paris: Les
Editions de minuit, 1989.
Staal, F. Ritual syntax. In: Nagatomi, M.; Matilal, B.; Masson, J. (Ed.). Sanskrit
and Indian studies: essays in honor of Daniel Ingalls, Dordrecht: Reidel, 1979.
STRATHERN, M. Property, substance and effect: anthropological essays on persons and
things. London: Athlone Press (1999) Collected essays, 1992-98.
Tomasello, M. Aux origines de la cognition humaine. Cahors, France: Retz/S.E.J.E.R.,
2005.
146
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 146 25/07/2013 09:08:49
Negociar com os espritos tromba em Mayotte
Retorno ao teatro vivido da possesso1
Bertrand Hell
Este estudo scio-psico-biolgico da mstica deve ser feito.
Eu penso que existem necessariamente meios biolgicos
de entrar em comunicao com o Deus.
Marcel Mauss, 1950a
O presente estudo apoia-se em trabalhos recentemente conduzidos em Mayotte,
mas se inscreve no mbito de uma pesquisa que teve incio em 1981, no Marro-
cos, e que se consagrou ao sentido vivido da possesso. Uma primeira mirada
consistiu em analisar a imagem dos aliados dos espritos atribuda aos ofician-
tes e em explorar a inquietante estranheza na qual esto embebidos os rituais
construdos em torno de um ato de metacomunicao. (Hell, 1999) Bem rpido
se colocou a questo desta opinio que cria o mago e as influncias que ele libe-
ra. (Mauss, 1950a, p. 32) Estar em transe e mostrar os signos da possesso no
tudo! Tanto no Marrocos, como no Brasil ou em Cuba, reconhece-se sem hesi-
tao que, no obstante a presena de espritos idnticos entre os iniciados, os
poderes teraputicos e adivinhatrios expressos variam grandemente segundo
os casos. A cada um cabe reproduzir a ideia de uma fora desigual das entida-
des incorporadas e, portanto, o valor flutuante da iniciao. O segundo momen-
to desta pesquisa se debruou sobre o processo inicitico mesmo e, em parti-
cular, sobre o mecanismo de instalao dos espritos nos nefitos. Sobre este
1 Texto original: HELL, Bertrand. Ngocier avec les esprits tromba Mayotte, Gradhiva, n. 7, p. 6-23, 2008. Tradu-
o de Marcos da Costa Martins. Reviso tcnica de La Freitas Perez.
147
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 147 25/07/2013 09:08:49
bertrand hell
ltimo ponto, o campo empreendido desde 2002, em Mayotte, revelou-se de uma
grande riqueza pelo fato de que, atravs dos dois principais cultos de possesso
desta ilha no arquiplago das Comores (o ngoma de origem bantu e o rumbu
dos tromba de inspirao malgaxe), os fundi wa madijini (literalmente: mestres
dos djinns) atribuem sempre uma importncia crucial aos rituais chamados de
medicamentos (dalao), que consistem em domesticar progressivamente os es-
pritos at seu controle total.2 Reenviando a uma transformao em profundida-
de da pessoa, estes rituais comportam uma cuidadosa dimenso teatral como,
por exemplo, a grande cerimnia que v o iniciado declamar publicamente o
nome de seus espritos. O autntico e o artifcio so aqui estreitamente imbrica-
dos. Esta constatao etnogrfica convida-nos a debruarmo-nos sobre o dossi
aberto, desde 1958, por numerosos etnlogos franceses, a saber, Roger Bastide,
Michel Leiris e Alfred Mtraux. Como dar conta deste vestirio de personali-
dades (LEIRIS apud JAMIN, 1996, p. 40) que a possesso oferece aos adeptos?
Ainda que central, a questo do jogo da possesso parece ter se mantido, desde
ento, um pouco de lado. Eu me propus, aqui, a reatualiz-la, tirando partido de
novos dados, relativos aos estados de conscincia modificados e plasticida-
de cerebral. Para faz-lo, eu me apoiarei num material etnogrfico concernen-
te ao culto dos tromba em Mayotte, cuja difuso resulta da presena atestada,
desde o primeiro censo oficial de 1852, de forte presena malgaxe (Sakalava e
Betsimisaraka, principalmente) no territrio desta coletividade departamental
francesa.3 A ateno se focalizar, notadamente, em dois rituais terminais que
concluram, em 2005, o percurso inicitico de uma me de famlia mayoten-
se, Machamou, que havia herdado oito trombas (os espritos malgaxes) de sua
av. Para ela, trata-se , uma vez enunciados solenemente os fady (as interdies),
prprios de cada esprito, de empreender violentas negociaes com eles para
levant-los parcialmente e, assim, tornar a vida cotidiana mais fcil.
2 At esta data, este campo mayotense foi objeto de seis estadias, num total de 9 meses. As misses foram
realizadas com o apoio do Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) e do Centre dtudes interdis-
ciplinaires des faites religieux (CEIFIR) de lcole des hautes tudes em sciences sociales.
3 Tal o estatuto oficial de Mayotte, comprada em 1841 pela Frana do Sulto Andriantsoly. Atualmente, calcula-
-se que 40% dos mayotenses tm como primeira lngua o shibushi, o dialeto malgaxe que se usa localmente.
(MAANDHUI, 1996, p. 5)
148
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 148 25/07/2013 09:08:49
negociar com os espritos tromba em mayotte
Os espritos descontentes
A histria pessoal de Machamou reflete perfeitamente a biografia clssica dos
adeptos dos cultos de possesso cujos rituais so aparentados, segundo a for-
mulao de Michel Leiris (1992, p. 68), a propsito do zar etope, a uma espcie
de iniciao cujo ponto de partida foi a doena. Esta doena eletiva se mani-
festa em Machamou desde a tenra infncia por meio de sbitos desmaios, de
fases de prostrao e de astenia. Os tratamentos mdicos comuns se mostra-
ram ineficazes e um adivinho foi consultado. Ele imputa a origem dos ataques
presena de numerosos espritos em seus ascendentes: patros em sua me
e tromba em sua av materna. Diferentes medicamentos permitiram a ob-
teno de trgua at a idade de 20 anos. Contudo, os problemas reapareceram,
ameaando seriamente sua sade. Decidiu-se, ento, com o fundi wa madiji-
ni, responder em primeiro lugar s exigncias desses patros impacientes que
queriam fazer da jovem mulher sua sede. Ao final de uma cura inicitica de
vrios anos, Machamou pde organizar, em 1991, seu grande ngoma, a noite
ritual de possesso realizada numa praa da cidade, no curso da qual seus es-
pritos patros proclamaram sua identidade. Desde ento, Machamou oficia ela
mesma como fundi wa madijini, praticando a vidncia e ocupando-se dos pa-
cientes. Mas a questo dos outros espritos familiares, os tromba, permaneceu
em suspenso.
De fato, poca de nosso primeiro encontro em 2002, Machamou pensava
ter alcanado certo equilbrio na sua relao com os tromba. Ela se conten-
tava o menos frequentemente possvel em incorporar os changizy, esses
espritos menores que aparecem sob a forma de marinheiros mortos afogados,
no sculo XIX, ao largo de Madagscar. De resto, ela confiava a Djalud, o mais
poderoso de seus espritos patros, o cuidado de lhe proteger de toda intru-
so mais insistente dos grandes tromba.4 Mas as coisas deram uma reviravol-
ta mais catica nos ltimos anos. A possesso pelos changizy tornou-se irre-
primvel, sobretudo se exprimindo cada vez mais rudemente: transformada
4 Os tromba designam originariamente os ancestrais reais da dinastia sakalava que reinaram em Madagscar at
o sculo XIX. Outros espritos vieram, na sequncia, integrar-se a este culto de possesso (os tromba antemoro,
vezo, volafotsy, marinheiros, etc.). Para um estudo da relao entre o culto dos tromba e a realeza sakalava, ver
Michel Lambek (2002).
149
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 149 25/07/2013 09:08:49
bertrand hell
em um de seus marinheiros pndegos e devassos, Machamou bebe lcool
alm das medidas, cambaleia, multiplica as palavras licenciosas e atm-se s
propostas obscenas. Apesar dos conselhos de outros iniciados, ela recusa obs-
tinadamente a se render evidncia e no quer engajar-se em nenhuma alian-
a com os tromba. A razo desta encarniada recusa? A vergonha: repete ela
muitas vezes. O comrcio com os tromba lhe repugna em razo de seu notrio
pendor pelas bebidas fortes e seu gosto desnaturado por festa. Whisky bebido
no gargalo, msica berrante, danas lascivas: tudo isto revela-se bem pouco
compatvel com o estatuto respeitvel de me de famlia (ela tem cinco filhos)
e de mulumana pia (ela cumpriu sua peregrinao a Meca em 1999) ao qual
ela aspira. A multido que se espreme em torno dos rumbu pblicos no est
sempre pronta para zombar dos comportamentos dos possudos?
No presente, a ameaa dos tromba se evidencia e o estado de sade de Ma-
chamou se deteriora seriamente. Ela cospe sangue durante as violentas crises
convulsivas; qualquer um, no culto dos adeptos, reconhece ali a ao mrbida
de Ndranaverna, um prncipe tromba morto com o peito despedaado. Virar o
rosto mais tempo traria graves consequncias. Machamou se resigna evidn-
cia: os espritos esperaram demais, chegada a hora de instal-los.
O retiro inicitico
Estamos em agosto de 2005. Aps uma srie de rumbu-dalao, ostentados em
vrios meses, levaram pouco a pouco as diferentes entidades a se manifesta-
rem mais calmamente e a formularem distintamente suas exigncias. Dora-
vante, mostra-se possvel proceder ao valihataka, o ritual de autodesignao
dos tromba. A cerimnia cara (mais de seis mil euros) e pesada de organizar,
pois os espritos elaboram uma longa lista de parentes tromba a convidar; eles
requerem a presena de uma orquestra clebre e exigem bebidas e cigarros em
profuso, inclusive para contentar a numerosa assistncia esperada.
Este grande ritual obrigatoriamente precedido de um perodo de recluso
total, de sete dias, pontuado por numerosos dalao dirigidos pelo fundi Attoumani.
Esta semana abre-se com ablues purificadoras, realizadas com a ajuda de
nove baldes de gua onde se banham as ervas e as razes. Machamou deve
viver enclausurada numa pea, a somente so admitidos alguns iniciados
150
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 150 25/07/2013 09:08:49
negociar com os espritos tromba em mayotte
encarregados de fazer subir todos os dias os seus tromba a fim de prepar-los para
sua apario pblica. Aplicao sobre o corpo de pastas vegetais, fumigaes de
incenso e unes de gua lustral misturada ao caulim, sucesso de bacias tanto
quentes (sob a forma de inalao de vapor), para forar a vinda de um esprito
indeciso, quanto frias (banhos), para, ao contrrio, moderar a irrupo e evitar
os estados de grande confuso: os ritos se encadeiam, sob o olhar atento do
chefe de culto, para fortificar o corpo da novia e torn-la apta a incorporar os
poderosos tromba. Mas trata-se, tambm, graas s plantas que repelem, de
fazer refluir os espritos indesejveis, aqueles mesmos que, sempre prontos a
insinuarem-se num corpo fragilizado, viriam-lhe soprar propostas ambguas.
E, dia e noite, incansavelmente, os rumbu (batimentos de mos) ritmados e as
exortaes dos iniciados encorajam a vinda dos tromba. Machamou atravessa
este perodo inicitico numa espcie de letargia desperta, prxima do estado
de hebetude testemunhada na maior parte dos cultos de possesso.54 Mas o
essencial sobreveio: os tromba se mostraram em sua verdadeira face, eles deram
o seu consentimento para a realizao do ritual pblico. Fundi Attoumani sai
para repousar, Machamou est pronta.
A apresentao dos espritos
A cerimnia se desenrola segundo o roteiro habitual dos grandes rumbu com
finalidade votiva ou teraputica. Aqui, para acolher a multido de convidados,
ela se realiza diante da casa de Machamou, numa larga praa de terra batida.
Numa das extremidades, cuidadosamente apontada para o nordeste, encontra-
-se o altar dos tromba com as diferentes oferendas (entre as quais, quatorze
garrafas de barisa, a beberagem sagrada) e os objetos de culto (pratos com gran-
des moedas de prata, potes de caulim, varas e cetros, cadinhos de incenso etc.).
Algumas cadeiras e pequenos bancos de madeira (tronos dos reis tromba) so
dispostos de um lado a outro, grandes esteiras so estendidas ao solo. Na outra
extremidade, jovens msicos preparam as ltimas regulagens diante de uma
impressionante aparelhagem sonora: os tromba se aprazem no tumulto o mais
ensurdecedor. Em Mayotte, os tocadores tradicionais de valiha (ctara tubular
5 Para o culto dos orix e vodun, por exemplo, ver Pierre Verger (1954, p. 171).
151
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 151 25/07/2013 09:08:50
bertrand hell
de bambu) e de acordeom cederam lugar s orquestras modernas (bateria, gui-
tarras eltricas, sintetizadores), interpretando os mais recentes sucessos mu-
sicais populares. O ordenamento do ritual no parece em nada ter sofrido com
esta mudana, pois como remarca um observador dos cultos de Madagscar, o
que importa, antes de tudo, instaurar uma ambincia festiva:
[...] o rudo de rigor: um grande rudo em certos casos, mas sempre ritma-
do [...] o ritmo cada vez mais acelerado tem por funo criar a ambincia e
despertar os espritos [...] no tanto a palavra, mas o ritmo e a msica que
parecem importar mais [...]. (Jaovelo-Dzao, 1997, p. 338-340)
O ritual comea por volta de 22h30min. Uma multido variegada e baru-
lhenta, majoritariamente de mulheres, se espreme nas esteiras. Aps a srie
de litanias de abertura, as possesses se sucedem: primeiro, os grandes reis;
depois, os prncipes e, por fim, os plebeus. Os marinheiros pndegos e outros
changizy farristas no aparecem seno mais tarde na noite. Desde os primei-
ros sinais da possesso, aplica-se cuidadosamente a pasta de caulim sobre
as partes mais dolorosas do corpo do iniciado, depois ele despido a fim de
vestir-lhe o costume de seu tromba: tanga vermelha, turbante e lana para o rei
guerreiro; camisa larga de linho, lamba (estola de seda), malgaxe tradicional,
chapu de palha e garrafa de rum para o rico proprietrio de terras; ou ainda,
vestido de musselina, vu rosa bombom e brinquedos de madeira para este
tromba menina. Cada nova apario saudada por koesy (saudao!) sonoros e
os adeptos se aproximam para lhe apresentar suas homenagens. A atmosfera
antes de tudo festiva. Os espritos exortam a assembleia a participar ativamen-
te com regozijos: o caulim usado hoje no chamado ravoravo, isto , jbilo?
Regularmente, as ondas de batimentos de mos fazem a multido vibrar em
unssono. Os tromba bebem, danam e tagarelam livremente com os adeptos.
Machamou, quanto a ela, est sentada diante do altar, ao p dos reis e rainhas
hierticos que a mimam, do-lhe palmadas nas costas e aspergem-na com
gua dos pratos rituais a cada novo transe que a sacode.
Pouco a pouco, o calor trazido pelos espritos ganha toda a assistncia. So
2 horas da manh e as possesses espontneas se propagam. Como sempre, algu-
mas mulheres maliciosas se aproveitam para imitar as incorporaes, acionan-
do a hilaridade geral. Algumas no exitam em se levantar e imitar alguns gestos
152
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 152 25/07/2013 09:08:50
negociar com os espritos tromba em mayotte
caractersticos de um esprito, sob o olhar falsamente irritado dos tromba. Quan-
to aos homens efeminados, que todo crculo de iniciados inclui invariavelmente,
cabe-lhes multiplicar as pilhrias, encenando o papel de bufes rituais. Agora,
oferecidas pelos espritos, as bebidas alcolicas circulam; os changizy se desen-
cadeiam e arrebatam as mulheres em suas danas desenfreadas. Assombrosa
atmosfera! De um lado, a msica zouk, os risos e os transbordamentos dionisa-
cos nos mergulham no corao duma festa aparentemente profana; de outro, a
deambulao na multido destes estranhos participantes, com faces maquiadas
em branco pelo caulim e com gestos curiosamente bruscos, nos relembram que
se trata de um autntico culto de possesso.
So 5h30min, o dia aponta no horizonte. O instante crucial se aproxima e
Machamou recolhe-se casa para os ltimos preparativos. Enquadrada por al-
guns iniciados, portando os hbitos novos dos tromba, ei-la que reaparece: o
olhar febril, o passo vacilante, e est envelopada num espesso lenol branco. O
cortejo fende lentamente a multido e vem se colocar diante do altar no meio
dos tromba. A msica se interrompe, a assembleia prende seu flego. A tenso
palpvel. Durante a hora e meia que se segue, os oito tromba vo sucessivamen-
te possuir sua sede que, a cada vez, reveste as vestimentas adequadas. Depois
preciso declinar com clareza sua identidade e fazer face s interrogaes in-
sistentes dos outros espritos que fazem um bloco ao redor dela. Os especta-
dores curiosos se aproximam discretamente para melhor entender o jogo das
questes-respostas. Como se chama teu irmo?; Onde se situa teu doany (lo-
cal sagrado)?; E, eu, quem sou eu?; Teu fady de frango: branco ou vermelho?.
Se eles ficam satisfeitos, os tromba congratulam o recm-chegado, convidam-
-no a saudar a assistncia e a esboar alguns gestos ou passos de dana carac-
tersticos de sua histria pessoal.6 surda apreenso sucede agora uma franca
alegria. Os parentes prximos de Machamou se abraam, alguns esto em lgri-
mas. Eles agradecem aos espritos com efuso. A msica recomea ainda mais
bela e a festa retomada. Machamou incorpora o tromba Ndranaverna, que se
lana imediatamente numa rodada de cumprimentos plateia. O ritual no ter-
mina, seno ao fim das 10 horas da manh, uma vez que os espritos tenham
6 Tal tromba manca, pois ele se fraturou as pernas; outro, tocador profissional de acordeom, agita os braos de
maneira desordenada; outro ainda, boxeador respeitado, mostra seu jogo de pernas.
153
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 153 25/07/2013 09:08:50
bertrand hell
partilhado entre si as oferendas recebidas (pacotes de peixe, maos de cigarro,
envelopes nominativos contendo algumas dezenas de euros). Machamou deve-
r cumprir uma curta recluso pontuada por algumas bacias.
Do bom uso do transe
A funo social desta cerimnia de investidura e de ordenao se desvela
claramente. Diante desta plateia, compreendendo tanto os principais tromba
conhecidos em Mayotte quanto a multido de adeptos, Machamou exibe pu-
blicamente seu conhecimento das regras do jogo. Respeitando a ordem de pre-
cedncia das aparies de tromba, ela mostra sua faculdade de submeter-se a
um protocolo muito estrito, tal como a possuda do zar. (Leiris, 1989, p. 121)
Suas respostas precisas s questes rituais provam que, como a ia do can-
dombl brasileiro, ela passou da experincia emprica ao saber organizado e
que ela perfeitamente familiariza-se com os deveres e as obrigaes de sua
futura tarefa. (Bastide, 2000, p. 65) Enfim, sua maestria de comportamentos
ostentatrios, prprios a cada esprito, atesta esta aptido da qual devem fazer
provas todos os iniciados, como desses hounsi haitianos cujo talento se revela,
em particular, quando de possesses sucessivas que lhes obrigam a mudar sem
transio de papel. (Mtraux, 1958, p. 114) Seguramente, a iniciao deve ser
lida, sob este ngulo, como uma busca de legitimidade, cuja observncia da
teatralizao das possesses constitui uma etapa obrigatria.
O que testemunha Machamou no curso deste rito de passagem se situa
tambm em outro nvel. Numerosos so os adeptos que foram testemunhas,
nestes ltimos anos, das possesses desordenadas e vergonhosas que ela
teve de suportar quando dos rumbu pblicos. Quanto aos seus recentes con-
tratempos de sade, eles no so segredo para ningum na ilha. Hoje, a nova
iniciada exibe uma personalidade insuspeita. Uma fora requerida para con-
trolar, em to curto espao de tempo, estes diferentes estados sucessivos de
despersonalizao total, enquanto tudo est flutuando numa profunda hebe-
tude. De resto, acontece que os novios no chegam a ultrapassar esta etapa
crucial, mesmo que todas as condies prticas estejam reunidas para que sua
iniciao seja bem-sucedida (dinheiro disponvel para o ritual, conhecimento
dos ritos, etc.). Se, na linhagem dos trabalhos de antropologia teatral de Jerzy
154
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 154 25/07/2013 09:08:50
negociar com os espritos tromba em mayotte
Grotowski, Machamou pde ser assimilada a uma performer (Pradier, 2005),
esta performance tambm medida nos termos de um processo psquico sub-
terrneo, no caso, a reorganizao do Eu a partir de experincias altamente per-
turbadoras e desestruturantes. Esta ideia do trabalho com os espritos no
, pois, uma simples figura de retrica. Empregada de maneira perfeitamente
idntica na linguagem comum, tanto em Mayotte quanto entre os gnawa mar-
roquinos, esta formulao reflexiona a realidade de um work in progress, que
no pode se descobrir seno na intimidade dos pequenos rumbu-medicamen-
tos e dos perodos rituais de recluso. Assim, graas relao de confiana es-
tabelecida com o fundi Attoumani, foi-me possvel seguir, alm de Machamou,
quatro outros retiros de iniciados. Uma relao de confiana? Aqui, a observa-
o participante pode ultrapassar os limites que impem, habitualmente, os
sistemas iniciticos. A bem dizer, este fundi parecia ter compreendido rapida-
mente que o fato de assistir s repeties dos ritos de denominao dos espri-
tos, no segredo dos lugares interditos aos no iniciados, no ia conduzir-me
inelutavelmente a concluir sobre a inautenticidade do culto, at mesmo pela
impostura. O importante para ele era deixar-me entrever a complexidade desta
relao interpessoal que deve ser desfrutada entre o novio, o chefe do culto
e o crculo restrito dos iniciados. Em suma, cabia a mim decriptar a expresso
etnogrfica, em escala reduzida, do clebre tringulo da magia invocado por
Lvi-Strauss (1958, p. 192).
preciso que j se tenha imaginado a idia de ser possudo para ser possu-
do, reforam Jean Jamin (1992, p. 48) e Michel Leiris ao evocarem a desmistifi-
cao que implica, s vezes, a etnologia. A interiorizao no mais profundo ser
desta ideia opera neste quadro muito preciso dos rituais comuns do culto. E
na durao, acrescentam os iniciados. O procedimento psicolgico acompa-
nhado, s vezes, de uma verdadeira aprendizagem do gestual adequado, como
ilustra esta sesso de trabalho ocorrida no domiclio do fundi em dezembro
de 2006. Um homem doente apresentou-se a ele e seu estado necessitava de um
rumbu teraputico. Aproveitando-se desta ocasio, Attoumani convidou trs
jovens para se juntarem ao pequeno grupo de seus assistentes. Com idades em
torno dos vinte anos, elas tinham apenas comeado sua iniciao e, por hora,
estavam no estgio das possesses selvagens, dolorosamente vividas. Durante
a maior parte do ritual, a ateno dos fundi e dos tromba, montados sobre os
155
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 155 25/07/2013 09:08:50
bertrand hell
assistentes, se focaliza sobre o paciente, pois trata-se de identificar o esprito
responsvel pelos males dele a partir do indcio mais tnue. Como a dezena de
adeptos presente no lugar, as trs jovens multiplicaram os batimentos de mos
para acompanhar a msica da pequena caixa de som. Aps trs horas de esfor-
o, o fundi parece satisfeito e d as indicaes para que o doente efetue uma
srie de bacias no ptio da casa. O rumbu prossegue. Attoumani incorpora
Alexandre, o tromba marinheiro que no tarda a distribuir cervejas e cigarros a
rodo. Muitos outros iniciados so possudos em seu turno e o ritual teraputi-
co cede lugar a uma festa improvisada dos tromba. Atrados pela msica e pelo
barulho, os vizinhos se espremem no vo da porta para verem danar os esp-
ritos. Os batimentos de mos redobram de intensidade, o calor aumenta e as
trs nefitas no tardam a mostrar os sinais de possesso. As duas primeiras
conhecem crises habituais: sentadas, elas comeam a tremer violentamente e
a gritar, agitando freneticamente os braos no ar. Imediatamente, so aspergi-
das de gua misturada com caulim, chamada aqui de fangala nintsy (que tira o
frio). O que tem por efeito coloc-las numa profunda prostrao entrecortada
de soluos. A terceira jovem, em revanche, parece querer abocanhar o ar e, em
seguida, cai, esparramando-se inanimada no solo. Sob um sinal de Alexandre,
ela recoberta inteiramente com um tecido ritual; este gesto marca a chega-
da de um grande tromba. As convulses fazem fremir o lenol, as duas pernas
da nefita brotam do tecido, estranhamente rgidas. Na hora, Alexandre unta-
-as cuidadosamente com o caulim, convidando a assistncia a multiplicar os
batimentos de mos. A possuda se recompe e simula se levantar, soltando
os mesmos gritos. Afastamo-nos, mas Alexandre a toma pela mo e verte-lhe
sobre a cabea o contedo do prato consagrado, o que desencadeia uma cri-
se espetacular de tremores. Aps um longo minuto de transe, ela apaga uma
segunda vez, inconsciente. Colocao do tecido, uno das pernas: os gestos
so renovados, mas, agora, uma vez recomposta, a possuda move a cabea da
esquerda para a direita, desvairada e parecendo implorar por ajuda. Um adepto
se aproxima e, agarrando-lhe as mos, ajuda-a a se colocar ereta. Rodeiam-na,
vestem-lhe uma camisa branca, cingem-na com um lamba e Alexandre traa-
-lhe vrios sinais sobre sua face com a ajuda do caulim. Cada um conhece a
significao. Estes traos denotam a apario de Ndramadanti, este rei morto
paralisado que todos sabem que no pode se mover sozinho. Ajudam-no a se
156
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 156 25/07/2013 09:08:50
negociar com os espritos tromba em mayotte
sentar. Ele permanecer presente, hiertico e completamente mudo durante
uma dezena de minutos, antes de se retirar de sua sede, deixando a jovem
exausta e soluante, desfalecida nos braos de uma espectadora. Tarde na noi-
te, Attoumani comunicou-me sua satisfao. Para esta nefita, uma etapa im-
portante foi transposta e seu ritual de abertura da boca (vaky-yava) volta a ser
vislumbrado num futuro prximo.
A performance realizada, quando de seu rito de passagem, revela-se, pois,
da mesma veia que aquela das novias beninesas do culto do vodum no mo-
mento de sua sada da cmara, onde estiveram reclusas por mais de um ano.
Diante do vilarejo reunido para este acontecimento, elas devem montar, uma
a uma, sobre o tamborete e fazer a demonstrao de seu talento de dana-
rinas. (Rouget, 2006a, p. 13) Sagrado e teatralidade se misturam nos cultos
de possesso, fazendo nascer os sentimentos ambguos no etnlogo. Assim,
Lydia Cabrera (2003, p. 51) evoca uma santa mistificao a propsito das pos-
sesses pelos orixs em Cuba. Como pensar este oxmoro?
A propsito do jogo litrgico da possesso
A questo da autenticidade no escapou aos primeiros etngrafos profissionais
confrontados pelos rituais xamnicos. Assim, desde 1916, Bronislaw Malinowski
(1933, p. 180) se interroga sobre o transe de um mdium do arquiplago das Tro-
briand: ele um artista ou um profeta?, enquanto que, pouco depois, a propsi-
to de um xam yakute, Gavriil Ksenofontov (1998, p. 27) sada a verdadeira arte
teatral que tende a dar vida aos espritos. Mas, na Frana, em 1958, que se esbo-
a uma verdadeira reflexo coletiva em torno do tema da possesso e teatraliza-
o. Nesta data, precisamente, aparecem trs trabalhos clssicos dedicados aos
diferentes cultos dos espritos: O Vodu Haitiano, de Alfred Mtraux, O Candombl
da Bahia, de Roger Bastide, e A Possesso e seus aspectos teatrais..., de Michel Leiris.
Estes trs estudos abundam em comentrios relativos vontade interior
dos possudos, censura exercida ou ainda ao jogo bem regrado do roteiro
imposto pela tradio mtica. Segundo um verdadeiro efeito de espelho, certas
expresses se cruzam perfeitamente: para Bastide (2000, p. 220) a dana dos
orixs uma pera fabulosa, Mtraux (1989, p. 129) se prende ao elemento de
comdia que comporta o ritual, enquanto que Leiris sublinha a parte singular-
157
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 157 25/07/2013 09:08:50
bertrand hell
mente expandida de arte e jogo. Contudo, originalidade marcante, os autores
no se limitam em glosar a artificialidade do fenmeno. Assim, no mesmo cap-
tulo, Mtraux toma o cuidado de responsabilizar-se, de um lado, pelas notaes
sobre a presena nos santurios de bastidores de teatro prprios s exigncias
indumentrias do vodu, e, de outro, por uma anedota que ilustra a fora de
convico se manifestando nos prprios possudos. Possuda pela deusa Ezi-
li, uma jovem mulher havia generosamente distribudo suas economias a um
annimo parceiro de dana, escolhido na assembleia. No dia seguinte, lamen-
tando amargamente este dinheiro desperdiado, ela leva o homem aos tribu-
nais. Embora o juiz tenha decidido em seu favor, ela recusa, contudo, retomar
sua oferenda, realizando que ela arriscaria atrair para si os raios da deusa. Eis,
porque, estima o etnlogo, que os transes rituais colocam de fato um problema
fundamental. Certo, o possudo, manifestamente, improvisa-se ator. Foroso
, contudo, reconhecer que ele entra na pele de seu personagem [e que ele]
domina seu papel de boa f. (Mtraux, 1958, p. 106-125) A questo no , por-
tanto, traar a fronteira entre o experimentado e o simulado no transe, mas de
se debruar sobre o campo de gravitao no seio do qual se define esta boa f
do possudo. O ponto de vista de Mtraux no estranho presena de Leiris
para uma misso etnogrfica realizada conjuntamente no Haiti, em 1948. Em
seu dirio, este ltimo evoca um desjejum
onde eu falo sempre vodu: como o esprito possuidor intervm, ao mesmo
tempo, como explicao do estado e como formulao ou estilizao deste
estado; a relao da possesso ser outra coisa que no o que se com o
bovarismo e com a m-f sartreana [...]. (Jamin, 1996, p. 43)
Bastide (2000, p. 222), por sua parte, retm o termo deluso, remeten-
do ao conceito introduzido por Pierre Janet na literatura mdica e que impe-
de, segundo ele, de reduzir o transe religioso a uma simples simulao.
Um debate abortado
Esta interrogao inovadora no vai se prolongar. Alfred Mtraux desapare-
ce em 1963. Michel Leiris engaja-se na escritura e no realiza mais nenhuma
dessas viagens etnogrficas que, nos lembra Jean Jamin (1996, p. 55), tecnica-
158
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 158 25/07/2013 09:08:50
negociar com os espritos tromba em mayotte
mente, at mesmo logicamente, poderiam ter se imposto a ele. Somente Roger
Bastide (1975, p. 213) prossegue a reflexo sobre o jogo litrgico, insistindo,
em particular, sobre as ideias do controle do transe, ou seja, sobre o conjunto
de sequncias que vo condicionar este futuro jogo de papis. Mas esta pers-
pectiva no , doravante, mais central, ela concorre, essencialmente, para sus-
tentar a distino proposta entre o sagrado selvagem e o sagrado domesticado.
Na Frana, a problemtica do jogo da possesso entre autenticidade e facti-
cidade parece esgotada, com nenhum novo estudo de campo vindo a alimentar
mais a discusso. Por que um tal desinteresse depois de 1958? Em um artigo
consagrado sobre a recepo na Frana da obra de Ernesto de Martino um
encontro perdido , Daniel Fabre nos fornece os elementos de resposta. Pois
h, efetivamente, lugar de se interrogar tanto sobre a ausncia de debate de fun-
do que se segue traduo, entre 1963 e 1971, dos admirveis trabalhos, sobre a
magia e o culto de exorcismo dos portadores de tarantismo no sul da Itlia, pro-
postos pelo grande etnlogo italiano. Este silncio no , de fato, surpreendente.
O retorno de Lvi-Strauss Frana, em 1947, leva a uma profunda transformao
intelectual ao ponto de, em 1960, toda a paisagem da etnologia francesa ter
sido remodelada, sem que os atores tenham uma conscincia clara e completa.
(Fabre, 1999, p. 230) O estruturalismo que predomina abre outros debates, em
particular com o marxismo e a hermenutica, nos quais nem a produo de-
martiniana, nem a franja original da etnologia francesa que, s vezes, se quali-
ficou de potica encontram doravante lugar. (Fabre, 1999, p. 210)
A bem dizer, Lvi-Strauss, num primeiro momento, interessou-se pela ques-
to. Mesmo que em nenhum dos trs trabalhos de 1958, citados anteriormente,
seja mencionada, desde 1949, nO Feiticeiro e sua magia e nA Eficcia simblica,
ele assentou slidas bases para a compreenso do complexo xamanstico. In-
terrogando-se, por exemplo, sobre o espetculo oferecido ao auditrio, ele ob-
serva: Mas a palavra espetculo no deve enganar: o xam no se contenta em
reproduzir ou imitar certos acontecimentos; ele os revive efetivamente em toda
sua vivacidade, sua originalidade e sua violncia. (LVI-STRAUSS, 1958, p. 207).
O canteiro de obras esboado permaneceu como estava por duas razes. De um
lado, o paralelo estabelecido entre a cura xamanstica e a cura psicanaltica, que
coloca o xam como um abreador profissional, no encontra nenhum pro-
longamento como consequncia de um sentimento crescente de desconfiana
159
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 159 25/07/2013 09:08:50
bertrand hell
para com a psicanlise.7 Explorar o fosso crescente que se criou entre o estru-
turalismo e, entre outros, o pensamento lacaniano, nos desviaria de nosso pro-
psito. Em revanche, a segunda razo nos interessa muito diretamente porque
ela se revela pesada de consequncias para a concepo mesma do trabalho de
campo. O paradigma estruturalista no acorda nenhuma importncia pesqui-
sa do sentido dado pelos atores s construes simblicas, porque, como enun-
cia Lvi-Strauss (1964, p. 20), a propsito da anlise dos mitos, esta no tem e
no pode ter como objetivo mostrar como pensam os homens. Construir um
objeto antropolgico graas observao minuciosa das atitudes dos possudos
a partir de um acompanhar paciente de seu percurso de vida, eis que no apre-
senta doravante nenhum interesse heurstico. Bem mais, a legitimidade mes-
ma de uma tal observao participante contestada. Esta concepo de fazer
cincia remete explicitamente grandeza das cincias duras.8 Ela impe ao
pesquisador uma distncia, uma exterioridade que torna suspeitas, para o estu-
do do fenmeno da possesso, a aproximao potica dos etnlogos franceses
e a iniciativa de insider de Zora Nearle Hurston (para o voodoo de Nova Orleans,
1935), ou aquela carimbada de cordialidade metodolgica9 de Lydia Cabrera
(para as religies afro-cubanas, 2003).
Esta profunda remodelagem da pesquisa antropolgica, na Frana, conduz
doravante os estudos sobre a possesso a se definirem segundo duas perspec-
tivas principais que, de novo, reificam a oposio autntico-inautntico. O
debate sobre o transe entre Gilbert Rouget e Roberte Hamayon cristaliza per-
feitamente esta clivagem. Ou bem o transe corresponde a uma disposio psi-
cofisiolgica inata da natureza humana (Rouget, 1990, p. 39), ou bem ela no
remete a nenhum estado nem a nenhuma experincia vivida, mas procede
7 Rapidamente, a tcnica teraputica, assim como a construo terica, cessam de seduzir Lvi-Strauss: Sobre-
tudo, eu quis me opor tentao que provam muitos etnlogos, socilogos ou historiadores, que, quando
suas interpretaes falham, acham cmodo, em lugar de reenvi-las ao canteiro de obras, preencher os vazios
diante dos quais eles se encontram com estas explicaes chaves-mestra das quais a psicanlise prdiga.
(ERIBON, 1988, p. 151)
8 porque a reflexo cientfica, tal como se manifesta em toda sua grandeza na biologia ou na fsica , me
serve de farol (Entrevista de Claude Lvi-Strauss a Dominique-Antoine Grisoni Magazine Littraire, 2003, p. 17).
Sobre a ruptura que opera esta nova concepo da cientificidade no campo da etnologia francesa, ver Vincent
Debaene (2006).
9 A expresso de Erwan Dianteill em seu prefcio da traduo francesa do livro de Lydia Cabrera (2003, p. 11).
Encontrar-se-, igualmente, nesse mesmo autor, uma interessante discusso sobre a questo do bom uso
sociolgico da participao religiosa em seu estudo dos cultos afro-cubanos. (DIANTEILl, 2000, p. 23-28)
160
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 160 25/07/2013 09:08:50
negociar com os espritos tromba em mayotte
dum jogo de papis. (Hamayon, 1995a, p. 420) O transe torna-se o desafio in-
telectual da discusso entre estruturalismo e funcionalismo.10 Para os estrutu-
ralistas, ele um fato de natureza universal sobre o qual foram elaborados os
dois roteiros do xamanismo e da possesso, cuja posio inversa e simtrica
responde lei binria que ordena as produes simblicas dos homens. Em
consequncia, os possudos so necessariamente passivos, eles so abandona-
dos a uma hebetude que eles no dominam de modo algum. O transe, insiste
Luc de Heusch (2006, p. 88), no pode ser seno que induzido, sonamblico
e, portanto, estruturalmente diferente daquele do xams, autoinduzido e alu-
cinatrio. Do lado dos funcionalistas, privilegiam-se as ideias de encenao,
de representao, de ao ritual, permitindo, seja legitimar uma instituio de
metacomunicao, seja oferecer um espao de regulao das tenses sociais.
Assim, para os cultos do oceano ndico, Michael Lambek (1993, p. 334) se pren-
de prioritariamente ao processo de gaining a voice, permitindo que mulheres
maiotenses majoritrias nos cultos de possesso assentem seu papel social:
as mulheres desempenham um papel ativo na possesso [...], pois isto lhes d
mais autoridade e capacidade de ao nas atividades nas quais elas sempre
se interessaram [...]. Grard Althabe (1969) insiste, por sua vez, na dimenso
poltica do fenmeno em Madagscar, sublinhando a funo de contestao e
de liberao no imaginrio reivindicadas nestes cultos nas sociedades desejo-
sas de se liberar do duplo peso da cristianizao e da colonizao. Jean Poirier
(1987, p. 287), de preferncia, destaca esta espcie de terapia coletiva que faz
do possudo um porta-voz do grupo que assegura inconscientemente uma
funo de regulao ou de censura sociais.
Todas estas contribuies apresentam um evidente interesse. No obstan-
te, sua focalizao sobre uma problemtica particular contribuiu para entra-
var o desenvolvimento de novos objetos em etnologia religiosa. Para sair desta
relheira, certos pesquisadores escolheram outros caminhos. Tal o caso de
lisabeth Claverie (2003) em sua minuciosa anlise da peregrinao marial a
Medjugorje. No significativo que esta antropologia das aparies, susten-
10 Na ltima moeda que deposita no dossi, Gilbert Rouget (2006b) mobiliza de maneira convincente os recentes
trabalhos das neurocincias relativos emoo, rompendo com uma concepo puramente psicopatolgica
do transe.
161
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 161 25/07/2013 09:08:50
bertrand hell
tada por um verdadeiro campo etnogrfico empreendido em 1987, progressi-
vamente construa-se a partir de conceitos situados fora do campo clssico da
etnologia francesa: o positivismo lgico, a pragmtica da linguagem, a socio-
logia da crtica, e isto em detrimento, por exemplo, do aporte de De Martino
sobre a eficcia do simbolismo mtico-ritual como tcnica de reconfigurao
do universo cotidiano?
No que concerne aos transes, esse encontro perdido diz respeito igual-
mente antropologia da conscincia. Contrariamente aos Estados Unidos,
onde esta perspectiva revela-se particularmente dinmica e plenamente inte-
grada ao campo oficial da American Anthropological Association (AAA), no
existe na Frana nenhum trabalho comparvel ao de Michael Winkelman
(2000) sobre os aspectos neurofenomenolgicos do xamanismo ou ao de Ju-
dith Becker (2004) sobre o papel da msica na emergncia da trance persona.
Neste ltimo estudo, a especialista dos cultos de possesso no sudeste asitico
prope que antroplogos integrem as mais recentes descobertas sobre o cre-
bro das emoes:
[...] dado que a emoo desempenha um papel central no conceito de cons-
cincia profunda de Damasio, j que as emoes organizam um conjunto
completo de atividades qumicas e nervosas que afetam o corpo inteiro, no
poderiam as emoes desempenhar um papel chave na percepo de uma
personalidade segunda em nosso prprio corpo? A emoo ligada escuta
musical no poderia igualmente desempenhar um papel central no processo
mgico e misterioso? (BECKER, 2004, p. 149)
Os trabalhos de neurofisiologia convidam, portanto, a levar em conta o
alargamento considervel do campo de estudos das potencialidades naturais
do crebro humano, e a colocar em causa a oposio entre um estado normal
da conscincia e os estados alterados.
Esta ideia avanada pela etnomusicloga americana de um processo mgi-
co e misterioso que opera no transe no desornaria nossas obras de 1958. Pare-
ce-me, doravante, possvel retornar abertura proposta em seu tempo pela et-
nologia potica francesa e, em particular, ao princpio de que uma possesso
pode se definir [...] como um teatro vivido, e no como um teatro represen-
tado ou como a expresso de um delrio coletivo. (Leiris, 1989, p. 124) Como
162
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 162 25/07/2013 09:08:50
negociar com os espritos tromba em mayotte
pensar hoje este conceito de teatro vivido? Para tentar responder, interessamo-
-nos agora pelo segundo ritual cumprido por Machamou.
Uma negociao delicada
5 de Dezembro de 2006. So 15h30min e eis as trs dezenas de pessoas reunidas
na casa de Machamou para este rumbu de resgate dos fady. Chamou, sua filha,
gira inquieta. Ela tritura nervosamente a folha de papel sobre a qual, ontem, a
famlia recapitulou a lista dos tabus: o frango, o leite, os ovos, o gengibre, as
frutas, o contato com os bebs, comer os restos, etc. Tudo isto constrangedor,
tanto que essas interdies vieram se adicionar s editadas pelos patros, estes
outros espritos instalados em Machamou. Num canto da pea amontoam-se
pacotes de cigarros e de bebidas destinados aos tromba. As ltimas economias
foram engolidas neste ritual; a prpria Chamou e seu marido, eles mesmos, um
jovem casal recentemente estabelecido, consagraram-lhe sua poupana. O ris-
co importante, pois uma vida normal quase impossvel respeitando todos
estes fady.
A cerimnia debuta pela repetio dos batimentos de mos destinados a
fazer subir os espritos. Hoje, alm de Ndrankendraza, vindo sobre fundi Attou-
mani, quatro venerveis reis so esperados, todos aparentados. Ao cabo de uma
hora de esforos sustentados pela assistncia, eles aparecem e se instalam em
seu trono colocado diante do altar. O conselho de sbios est pronto, Macha-
mou pode, doravante, incorporar seus oito tromba a fim de que cada um deles
exprima seu sentimento. A cada apario, uma discusso se instaura. Aps
ter apresentado um prato ritual com as oferendas (algumas moedas), Chamou
enumera a lista das interdies e solicita a compreenso do tromba. Os reis
intervm e apoiam a demanda. Mas os trs primeiros espritos dois prncipes
e uma velha rainha se mostram intratveis. Da boca para fora, eles aceitaram
levantar algumas interdies menores, tal como a consumao dos restos de
alimentos da refeio da vspera (com a condio de que os alimentos perma-
neam, contudo, na marmita) ou como a consumao de um peixe de pequeno
tamanho. Ndraverna recusa, por exemplo, levantar o tabu do fruto do cajueiro
e no aceita seno um contato visual acidental: a iniciada pode, a rigor, v-lo
como estampa num vu indumentrio. J se faz tarde, Chamou est desespe-
163
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 163 25/07/2013 09:08:50
bertrand hell
rada e na pea superaquecida a tenso palpvel. As horas passadas a nego-
ciar no alcanaram seno um magro resultado. Felizmente, o tromba criana
Mona, a neta de Ndrankendraza, que possui, no momento, Machamou, parece
melhor disposto a escutar o conselho dos sbios e, sobretudo, do seu av, que
pleiteia a causa da recm-iniciada. As coisas se arrumam. Mona aceita levantar
as interdies mais constrangedoras: o frango (mas somente o de cor branca),
o leite e os ovos, a batata doce (mas no a vermelha), as pequenas bananas
de cozinhar (mas no as aucaradas). Enfim, ela se mostra indulgente naquilo
que concerne sujeira ligada s crianas. Machamou poder se ocupar de
tempos em tempos de um lactente, sob condio de tomar certas precaues
rituais. Chamou reencontra o sorriso: ela trabalha fora e o problema da guarda
de seu beb enfim resolvida. As incorporaes recomeam. Mas nem o prn-
cipe Leva, nem o capito de navio Changuiz se mostram dispostos a prosseguir
com o levantamento de outros fady. J lhe concedemos muito!, brada este l-
timo tromba para Chamou que, encabulada, dobra sua lista em quatro. Quanto
a Alexandre e depois quanto a Chianti, os dois ltimos espritos marinheiros a
possuir Machamou, chegados h pouco, no tero outras preocupaes seno
beber cerveja, gracejar com os espectadores e danar, satisfazendo-se em de-
sencadear aqui e ali as possesses espontneas. E enquanto a festa atinge seu
auge, no meio de risos, de mmicas lascivas e de uma msica tocada a pleno
volume diante do altar, os membros da famlia vo desfilar ao p dos velhos
tromba para recolher muito respeitosamente suas bnos e escutar suas re-
comendaes. ento, prximo das 3h da manh, uma vez terminado o ritu-
al e seu ltimo tromba partido, que Machamou, totalmente esgotada, tomar
conhecimento, com uma inquietude manifesta, dos resultados da negociao.
Esta inquietude pode se compreender. Enquanto iniciada do ngoma, ela j
pode experimentar na dor as consequncias fisiolgicas da transgresso das
interdies. Assim, h uma dezena de anos, sua mo comeou a inchar perigo-
samente e endurecer pouco aps ela tomar emprestado o dinheiro do prato
dos espritos para saldar compras urgentes. Mais grave, ela havia recentemente
terminado um prato na cozinha, por gulodice, faltando, assim, esta estrita regra
de pureza alimentar que lhe impe o velho patros Afrit. Ela desfalece a sufocar,
desencadeando o pnico na casa. Felizmente, algum teve o reflexo de telefonar
para o seu fundi, que pde prescrever-lhe um banho-medicamento eficaz.
164
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 164 25/07/2013 09:08:50
negociar com os espritos tromba em mayotte
Novos olhares sobre a conscincia e a hipnose
Classicamente, a questo das interdies conduz a penetrar em cosmologias
particulares. Ela pode, assim, como prope Rita Astuti (2007) para os Vezo
malgaxes, esclarecer-nos sobre a distino moral-convenes. A meu ver, os
tabus ligados aos espritos so tambm suscetveis de atualizar certas aladas
do teatro vivido da possesso. Foi me permitido acompanhar vrios medica-
mentos efetuados em urgncia para tratar intoxicaes severas, paralisias ou
edemas que se seguiram a uma transgresso. O importante aqui ressaltar que
este vivido corporal afeta essencialmente os iniciados cujo estatuto de aliados
dos espritos impe os constrangimentos mais estritos. Sobre este ponto mui-
to preciso, o campo etnogrfico torna problemtica a ideia de que toda con-
siderao de ordem fisiolgica e psicolgica intil para dar conta do xam.
(Hamayon, 1995b, p. 175)
Sem estenderem-se mais, vrios autores evocaram o condicionamento
(Bastide, 1975, p. 213) e o estado de dcil sugestibilidade (Verger, 1982, p.
43) do novio. Preocupado em escavar esta questo, eu empreendi, em 2002,
uma colaborao com especialistas de hipnose, buscando um campo quando
de curas de hipnoanlise11 e participando de seus trabalhos. (Hell, 2006) Em
primeiro lugar, isto me permitiu mensurar o fosso que separa os esteretipos
e as prenoes prprias ao ensasmo de gabinete que prevalece no debate psi-
canaltico francs relativo fecundidade de estudos conduzidos pelos clnicos
e pelos pesquisadores em neurocincias. O desenvolvimento recente de tc-
nicas de neuro-imaginria impede, por exemplo, de manter por mais tempo
a confuso entre consciente e desperto ou mentalmente receptivo. Os
estudos sobre hipnose vm responder aqueles sobre os estados dissociativos
ligados dor (grandes queimados, por exemplo), sobre a regulao das emo-
es que opera o sistema nervoso central ou ainda sobre as iluses perceptivas.
Sob este ngulo, possvel objetivar a hipnose no nvel de atividade cerebral e
de romper, assim, com a ideia de um estado de passividade ligado a uma fora
11 Agradeo em particular aos psiquiatras douard Collot, do Grupo Para o Estudo das Aplicaes Mdicas da
Hipnose (Paris), e Eric Bonvin, do Instituto Romanche de Hipnose Suo; ao psiclogo Jean-Roch Laurence da
Universidade Concordia (Montral) e antroploga Marlne D. de Rios, da Universidade da Califrnia (Irvine)
por sua ajuda preciosa.
165
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 165 25/07/2013 09:08:50
bertrand hell
nica de sugesto. Mais precisamente, no nvel de induo hipntica, consta-
ta-se que o relaxamento mental, o deixar-se tomar, consequncia da reduo
da vigilncia e do despertar, se traduzem por modificaes no giro cingulado
anterior, no tronco enceflico e no tlamo. (Collot, 2006, p. 114) A hipnose
remete, portanto, aos estados particulares de relao com o mundo e de per-
cepo, cuja variabilidade ilustrada por suas aplicaes mdicas. Sob uma
forma pesada, podemos fazer apelo ao seu poder analgsico e desenvolver as
tcnicas ditas de hipno-sedao que, tornam-se, em certos hospitais, verdadei-
ras alternativas anestesia clssica. (CHUchotis, 2006) Sob uma forma mais
leve, os transes silenciosos servem seja para trabalhar a perceptude do pa-
ciente, seja para construir uma aliana teraputica com o cuidador fundada na
intersubjetividade.12 O denominador comum de todos estes estados hipnoides
reside em uma modificao do campo atencional e uma concentrao em cer-
tas representaes mentais prprias. Ora, parece que esta focalizao cerebral
pode induzir muito diretamente s reaes fisiolgicas tangveis. Eis o ponto
que nos interessa!
Estado hipnoide e revivido corporal
Graas aos recentes estudos por tomografia, via emisso de psitrons, con-
duzidos simultaneamente em vrios centros de pesquisa (cclotron de Lige,
Universidades de Harvard e de Waterloo, no Canad), a existncia de corre-
latos neuronais especficos hipnose foi demonstrada;13 , assim, possvel
doravante traar uma fronteira precisa entre lembrar e reviver. Quando um
sujeito acordado rememora um instante de sua vida, ele ativa, sobretudo, os
lobos temporais direito e esquerdo, reas que no reagem quando ele no pen-
sa em nada de preciso. Em contraste, em estado hipnoide, o sujeito mobiliza
uma rede cerebral comportando as regies da viso (occipital), das sensaes
(parietal) e da motricidade (pr-central). Ainda imvel, ele v, sente e se mexe.
12 Sobre o conceito de perceptude em hipnose, ver Franois Roustang (2003, p. 179-194). Depois dos trabalhos
revolucionrios do psiquiatra americano Milton Erickson, o princpio da comunicao interpessoal se tornou
a pedra angular da cura hipntica. (BIOY; MICHAUX, 2007, p. 14)
13 Esta tcnica de imaginria permite observar a atividade do crebro a partir das variaes locais do dficit
sanguneo. Sobre as novas fronteiras da conscincia, ver Laureys (2005).
166
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 166 25/07/2013 09:08:50
negociar com os espritos tromba em mayotte
Os dados cientficos vm assim corroborar a relao subjetiva dos hipnotiza-
dos, que mencionam invariavelmente a impresso de reviver os momentos
escolhidos, e no simplesmente de lembrar-se. (Faymonville; MARQUET;
LAUREYS, 2005, p. 47) Resultados idnticos aparecem quando proposto ao
sujeito lembrar uma parte de uma msica ou uma cor: a iluso sensorial deixa
traos cerebrais precisos, mostrando que o estado hipnoide conduz a tratar as
informaes nocipeptivas exatamente como no caso de uma escuta e de uma
viso objetivas. A imagem e o som cerebrais assemelham-se percepo real.
Se as pesquisas conduzidas graas s novas ferramentas de imaginria
cerebral no remontam seno ao fim dos anos 1980, o princpio de um vivi-
do corporal ligado hipnose , em revanche, solidamente atestado h mais
de quarenta anos na experimentao teraputica. Do vasto corpus disponvel,
podemos particularmente extrair os dados clnicos relativos aversive therapy.
Seu protocolo repousa sobre um condicionamento negativo simples. Para li-
berar um paciente sofrendo de uma dependncia (o tabagismo, por exemplo),
este colocado sob hipnose e o terapeuta vai fundear uma sensao desagrad-
vel (o mal do mar), associando-o ao tabaco. A partir deste momento, o fumante
sentir nuseas e at mesmo poder estar sujeito a vmitos a partir do momen-
to que levar um cigarro aos seus lbios.14 O aversive training, empregado em
hipnoterapia, consiste, ento, em transformar uma ao ou uma ingesto em
um estmulo, provocando uma resposta corporal nociva. A literatura mdica
anglo-saxnica (Journal of Nervous and Mental Disease, 1986; American Journal
of Psychiatry, 1964; The British Journal of Psychiatry, 1983; American Journal of
Psichotherapy,1972; etc) testemunha a eficcia desta tcnica teraputica para
curar o alcoolismo, a paixo compulsiva pelo jogo, a bulimia ou outras sndro-
mes de dependncia.
A interdio ligada a um esprito pode perfeitamente desempenhar esta
funo teraputica de resposta repulsiva. Assim , por exemplo, a simples vista
do bangu (cannabis) para Zalihata. Esta jovem mulher, iniciada recentemente,
incorpora o tromba Bevava, que probe estritamente o uso deste estupefacien-
14 Depois de cerca de quinze anos, a hipnoterapia tenta privilegiar as indues positivas para tratar o tabagismo.
(THIOLY, 2007, p. 141-147) A tcnica de averso permanece, apesar de tudo, ainda utilizada. (BONSHTEIN;
SHAAR; GOLAN, 2005)
167
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 167 25/07/2013 09:08:50
bertrand hell
te cultivado localmente. Ora, acontece que Zalihata foi acolhida por sua fundi
num estado psicolgico grave. Vivendo desterrada desde sua adolescncia, ela
tinha levado uma vida de errncia que a teria conduzido a multiplicar o uso
de psicotrpicos (datura, cocktail rum-razes, etc.). Ela foi hospitalizada vrias
vezes, em Reunio, por causa de crises de overdose delirantes e agudas. Re-
tornada Mayotte, ela sucumbia inexoravelmente na demncia, quando uma
parente distante, tomada de piedade, levou-a a uma fundi.
Aps alguns meses de rumbu-medicamentos, pontuados por transes muito
violentos, Bevava se manifestou e, como toda primeira exigncia, convocou
seu tabu do bangu. Aterrorizada, Zalihata respeitou escrupulosamente esta
interdio durante sua iniciao. Hoje ela uma mdium titular, reencontrou
seu equilbrio e leva uma vida comum. minha questo sobre uma ocasional
consumao de bangu, ela responde: se eu o toco, o sei, ele vai me tornar
imediatamente louca. Este percurso tambm o de Omar no Marrocos. Inter-
nado durante um tempo num hospital de Casablanca por sintomas de delirium
tremens, esse jovem alcolico foi confiado por sua famlia, em desespero de
causa, a um chefe do culto dos gnawa. Este ltimo identifica em Omar um po-
deroso djinn da famlia dos Verdes, os espritos muulmanos designados sob
o termo homens de Allah. (Hell, 2002, p. 21) Uma vez aparecido, esse djinn
proibiu formalmente todo contato com o lcool, no hesitando em provocar
crises agudas de sufocamento a cada transgresso. Hoje Omar abstmio e se-
gue o caminho aberto por seu djinn.
Fortalecidos destas precises sobre os estados hipnoides, mensuramos ago-
ra a correlao possvel entre estes estados e o teatro vivido da possesso. Resta
insistir, contudo, num ponto: diferentemente de Georges Lapassade (1997), eu
no me ponho como questo existncia de perturbaes, sejam dissociativas,
sejam histricas, como fundamento efetivo da possesso. Mesmo se, diante da
evidncia, o acolhimento de pessoas sofrendo de alteraes de comportamen-
to constitua um aspecto importante dos cultos, minhas referncias hipnose
visam esclarecer mais globalmente o processo inicitico, que no se limita a
um dispositivo teraputico. A meu ver, o poderoso vivido corporal e imagin-
rio dos adeptos procede do princpio de ancoragem que permite a induo hip-
ntica. Uma iniciao bem sucedida consiste em inscrever, no mais ntimo
da pessoa, em estado de conscincia latente, uma (ou vrias) personalidade(s)
168
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 168 25/07/2013 09:08:50
negociar com os espritos tromba em mayotte
susceptvel(eis) de ser reativada(s) a todo momento graas a certos estmulos
voluntrios (a autoinduo do transe nos grandes iniciados) ou inconscientes
(caso das interdies alimentares). Mas esta hiptese no deve desembocar em
uma teoria simplista do condicionamento, muito pelo contrrio.
Por uma teoria da ancoragem
Longe de conduzir a um reducionismo neurobiolgico, os avanos das neuro-
cincias mostram que a cognio no o puro produto de uma lgica cerebral,
mas que depende, tambm, de construes sociais e de experincias pessoais.
Os trabalhos recentes sobre a plasticidade cerebral ilustram-no. Graas imagi-
nria cerebral, constata-se, por exemplo, que as regies especializadas na coor-
denao dos movimentos ou na audio podem ser mais ou menos desenvolvi-
das segundo os sujeitos que praticam intensamente o malabarismo ou a msica.
(Vidal, p. 2005) Em resumo, no que diz respeito aos mecanismos de conscincia
e de percepo, foroso reconhecer que a caixa de Pandora no pode seno
se abrir. (Faymonville; MARQUET; LAUREYS, 2005, p. 49) A antropologia da
possesso deve-se integrar a esta complexidade do fenmeno cognitivo. Invocar
o processo de ancoragem ligado a uma induo hipntica implica considerar que
as noes vrias vezes refeitas de reflexo condicionado e de automatismo no
esgotam o assunto. A ancoragem do esprito se aparenta a um verdadeiro tra-
balho da psique, impondo a participao ativa do iniciado, o objetivo sendo de
alcanar a trama de uma pele de possesso. Esta constitui um novo envelope de
contato com o mundo, permitindo-lhe, ao apropriar-se das imagens significan-
tes, constituir uma memria particular (como aquela das interdies alimenta-
res) e construir uma interao social baseada sobre o emocional. (Hell, 2006,
p. 358-360) Nesta tica, o conceito de ancoragem permite levantar o vu de certas
contradies aparentes dos cultos de possesso, em particular aquelas inscritas
no fio da oposio autenticidade-inautencidade.
Primeiramente, a questo da grande variabilidade das formas da possesso
atravessa mltiplos estudos sem encontrar respostas satisfatrias. A refern-
cia hipnose nos permite aqui no recorrer, em todos os casos, ideia de si-
mulao. Os estados hipnoides podem flutuar consideravelmente em funo
do contexto e da natureza da induo. Assim, no que concerne unicamente
169
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 169 25/07/2013 09:08:50
bertrand hell
ao transe profundo, preciso distinguir o transe sonamblico (marcado por
uma forte atividade tnica) e o transe de estupor (de tipo catalptico), os
quais implicam reaes muito diferentes dos sujeitos. (Erickson, 1980) Que
um mesmo tromba possa provocar os transes dessemelhantes nos iniciados,
eis que no devemos mais nos surpreender. a mesma desigualdade de po-
deres mgico-teraputicos que confere a aliana com os espritos curadores
idnticos. Pois esta experincia ntima, esta potncia de convico do xam-
-terapeuta, invocado por Claude Lvi-Strauss (1958, p. 205), procede diretamen-
te da profundidade do processo de ancoragem realizado durante a iniciao. Os
velhos iniciados brasileiros, marroquinos ou mayotenses no dizem, de resto,
outra coisa quando remarcam que os espritos no se manifestam com a mes-
ma fora depois que os rituais iniciticos foram encurtados e edulcorados.
Em segundo lugar, o problema dos estmulos beneficia-se igualmente de
uma nova iluminao. As monografias ressaltam a pluralidade possvel dos
disparadores da possesso no seio de um mesmo culto. Os possudos podem
reagir seja a um estmulo sonoro, seja a um odor, seja a uma captura senso-
rial exercida pelo crculo de iniciados, seja, ainda, a um simples contato fsico.
Esta diversidade escoa do processo de ancoragem efetuado. O mestre da inicia-
o o modula, com efeito, ao sabor de uma bricolagem interativa que ele opera
com cada nefito. Os mananciais subterrneos do transe requerem, logo, uma
observao etnogrfica muito precisa conduzida na direo das nascentes das
grandes cerimnias. Observao que, como o prope Jol Candau (2006, p.51)
a propsito das sensaes olfativas, deve tambm integrar as propriedades fo-
nolgicas, sintticas e semnticas das palavras.
Enfim, para alm desses dois pontos tpicos, a teoria da ancoragem per-
mite estabelecer pontes entre o processo inicitico e o trabalho psquico con-
duzido na hipnoanlise. Sobre esses dois registros, ele faz apelo fora cria-
dora dos sonhos, dos smbolos, das imagens surgidas do transe e ao sentir das
descargas de afetos. A imaginao ativa uma alavanca de ao sobre o real.
A ideia que predomina aquela de um inconsciente de tipo resource oriented,
segundo a frmula de Milton Erickson, ou seja, rica de recursos potenciais.
Nesta tica, o terapeuta pode se apoiar sobre os aspectos diurnos e noturnos
do inconsciente do paciente que o ajudam a reconfigurar-se e a renegociar sua
relao com os outros. Seguir este fio permite, ento, esclarecer os numerosos
170
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 170 25/07/2013 09:08:50
negociar com os espritos tromba em mayotte
aspectos da possesso, tais como o princpio da negociao com os espritos
(prxima da negociao dos sintomas, utilizada nas curas inspiradas por Eri-
ckson) ou o mecanismo da relao intersubjetiva estabelecida com o chefe de
culto (comparvel afinao afetiva conhecida em hipnoterapia). Ou, ainda,
evidentemente, a concepo mesma da pessoa prevalecendo nos dois sistemas
de pensamento: uma pessoa cujos limites no so circunscritos nas fronteiras
da identidade individual, mas largamente abertos s influncias do meio ou
da histria transgeracional. Identificar um esprito adquirido por herana ou
evocar a presena mrbida de um fantasma familiar constituem diagnsti-
cos em estreita ressonncia.
Ao trmino deste artigo, uma interrogao se coloca. O conceito de teatro
vivido, tal qual o retenho aqui, reflete ainda o pensamento de Michel Leiris?
Provavelmente no, se o iluminamos luz da reflexo sartreana sobre a m-
-f. (Jamin, 1996, p. 40-11) A releitura proposta no concerne, integralmente,
noo filosfica, mas visa abrir, a partir de um problema particular da an-
coragem das interdies, uma perspectiva renovada do vivido da possesso. E
esta perspectiva resta, a meu ver, plenamente inscrita no campo clssico da
etnologia francesa.
Referncias
ALTHABE, Grard. Oppression et libration dans limaginaire. Paris: Maspero, 1969.
ASTUTI, Rita. La moralit des conventions: tabous ancestraux Madagascar. Terrain,
n. 48: p. 101-11, 2007.
BASTIDE, Roger. Le Candombl de Bahia: rite nag. Paris: Plon. 2000.
BASTIDE, Roger. Le Sacr sauvage et autres essais. Paris: Payot, 1975.
BECKER, Judith. Deep listeners: music, emotion, and trancing. Bloomington: Indiana
University Press, 2004
BIOY, Antoine; MICHAUX, Didier. Trait dhypnothrapie: fondements, mthodes,
applications. Paris: Dunod, 2007.
BONSHTEIN, Indi; SHAAR, Izhar; GOLAN, Gabi. Use of aversion techniques in the
hypnotic state for smoking cessation. Contemporary Hypnosis, v. 22, n. 4, p. 193-201,
2005.
CABRERA, Lydia. La Fort et les Dieux: religions afrocubaines et mdecine sacre
Cuba. Paris: Jean-Michel Place, 2003.
171
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 171 25/07/2013 09:08:50
bertrand hell
CANDAU, Jol. Des odeurs ne pas regarder. Terrain, n. 47, p. 51-68, 2006.
CHUChotis. La Conscience (dossier). Lige: Centre Hospitalier Universitaire, 2006
CLAVERIE, lisabeth. Les Guerres de la Vierge. une anthropologie des apparitions.
Paris: Gallimard, 2003.
COLLOT, douard. De la dissociation. In: Didier, Michaux (Ed.), Hypnose et
dissociation psychique. Paris: Imago, 2006.
DIANTEILL, Erwan. Des dieux et des signes: initiation, criture et divination dans les
religions afrocubaines. Paris: cole des hautes tudes en sciences sociales, 2000.
DEBAENE, Vincent. tudier des tats de conscience: la rinvention du terrain par
lethnologie, 1925-1939. LHomme, n. 179, p. 7-62, 2006.
ERIBON, Didier. De prs et de loin. Paris: Odile Jacob, 1988.
ERICKSON, Milton. Collected Papers I. New York: Irvington, 1980.
FABRE, Daniel. Un rendez-vous manqu: Ernesto De Martino et sa rception en France.
LHomme, n. 151, p. 207-236, 1999.
FAYMONVILLE, Marie-lisabeth; MARQUET, Pierre; LAUREYS, Steven. Comment
lhypnose agit sur le cerveau. La Recherche, n. 392, p. 44-49, 2005.
HAMAYON, Roberte. Le chamanisme sibrien: rflexion sur un medium. La Recherche,
v. 26, p. 416-422, 1995a.
HAMAYON, Roberte. Pour en finir avec la transe et lextase dans ltude du
chamanisme. tudes mongoles et sibriennes, n. 26, p. 155-190, 1995b.
HELL, Bertrand. Chamanisme et possession: les Matres du dsordre. Paris: Flammarion,
1999.
HELL, Bertrand. Tourbillon des gnies: Au Maroc avec les gnawa. Paris: Flammarion,
2002.
HELL, Bertrand. Possession, motion et modernit (Maroc, Mayotte). In: Didier,
Michaux (Ed.), Hypnose et dissociation psychique. Paris: Imago, 2006.
HEUSCH, Luc de. La transe et ses entours: la sorcellerie, lamour fou, saint jean de la
croix, etc. Bruxelles: Complexe, 2006.
JAMIN, Jean. Introduction Miroir de lAfrique. In: LEIRIS, Michel. Miroir de lAfrique.
Paris: Gallimard, p.9-59, 1996.
JAOVELO-DZAO, Robert. Mythes, rites et transes Madagascar. Paris: Karthala, 1997.
KSENOFONTOV, Graviil. Les Chamanes de Sibrie et leur tradition orale. Paris: Albin
Michel, 1998.
LAMBEK, Michael. Knowledge and pratice in Mayotte: local discourses of islam, sorcery
and spirit possession. Toronto: Toronto University Press, 1993.
172
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 172 25/07/2013 09:08:50
negociar com os espritos tromba em mayotte
LAMBEK, Michael. Weight of the past: living with history in Mahajanga, Madagascar.
New York: Palgrave Macmillan, 2002.
LAPASSADE, Georges. Les rites de possession. Paris: Anthropos, 1997.
LAUREYS, Steven (d.). The boundaries of consciousness: neurobiology and
neuropathology. Burlington: Elsevier Publishing Company, 2005.
LEIRIS, Michel. La possession et ses aspects thtraux chez les thiopiens de Gondar.
Montpellier: Fata Morgana, 1989.
LEIRIS, Michel. Cest--dire. Paris: Jean-Michel Place, 1992.
LVI-STRAUSS, Claude. Le Sorcier et sa magie. In: _______. Anthropologie structurale.
Paris: Plon, 1958.
LVI-STRAUSS, Claude. Le Cru et le Cuit. Paris: Plon, 1964. (Mythologiques, 1)
LVI-STRAUSS, Claude. Entretien avec Dominique-Antoine Grisoni. Magazine
Littraire, hors-srie Lvi-Strauss, n. 5, p. 16-17, 2003.
MAANDHUI, Ousseni. Parlons shimaore. Mamoudzou: ditions du Baobab, 1996.
MALINOWSKI, Bronislaw. Trois Essais sur la vie sociale des primitifs. Paris: Payot, 1933.
MAUSS, Marcel. Esquisse dune thorie gnrale de la magie. In: _______ Sociologie et
anthropologie. Paris: PUF, 1950a.
MAUSS, Marcel. Les techniques du corps. In: _______ Sociologie et Anthropologie. Paris,
PUF, p. 363-386, 1950b.
MTRAUX, Alfred. Le vaudou hatien. Paris: Gallimard, 1958
POIRIER, Jean. Tromba et Ambalavelona chez les Bezanozano: aspects des
phnomnes de possession Madagascar. In: GANAY, Solange de et al (d.).
Ethnologiques: hommages Marcel Griaule. Paris: Hermann, p. 277-289, 1987.
PRADIER, Jean-Marie. Des chimres de labstraction au ravissement des corps en
scne. Internationale de limaginaire. Cultures du monde. Arles: Babel-Actes Sud, n. 20,
2005.
ROUGET, Gilbert. La musique et la transe:. esquisse dune thorie gnrale des relations
de la musique et de la possession. Paris: Gallimard,1990.
ROUGET, Gilbert. Musica reservata: deux chants initiatiques pour le culte des vdum
du Bnin. Paris: Institut de France, Acadmie des Beaux-Arts (sesso de 26 de maro
de 2005), 2006a.
ROUGET, Gilbert. Transe: thtre, motions et neurosciences. In: AUBERT, Laurent.
Cahiers de Musiques traditionnelles: chamanisme et possession, n. 19, 2006b.
ROUSTANG, Franois. Il suffit dun geste. Paris: Odile Jacob, 2003.
THIOLY, Francis. TCC et hypnose dinspiration ericksonienne. In: Bioy, Antoine;
MICHAUX, Didier (Dir.). Trait dhypnothrapie. Paris: Dunod, 2007.
173
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 173 25/07/2013 09:08:50
bertrand hell
VERGER, Pierre. Dieux dAfrique. Paris: Paul Hartmann, 1954.
VERGER, Pierre. Orisha. Les dieux yoruba en Afrique et au Nouveau Monde. Paris:
Metaili, 1982.
VIDAL, Catherine. Cerveau, sexe et pouvoir. Paris: Belin, 2005.
WINKELMAN, Michael. Shamanism. the neural ecology of consciousness and healing.
Westport: Bergin and Garvey, 2000.
174
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 174 25/07/2013 09:08:50
Renascido para a santidade:
corporalidade, doenas, curas e milagres em Itaparica
Carlos Caroso1
Carlo Castaldi2
Entre agosto de 1953 e junho de 1954, Carlo Castaldi realizou uma pesquisa de
campo e produziu uma etnografia sobre as atividades de trs terapeutas reli-
giosos na ilha de Itaparica, situada na Baa de Todos os Santos. Um deles era
um homem autodenominado So Venceslau, que morava no local que se tor-
nou conhecido como Milagre e realizava curas por meio do uso da gua de uma
nascente conhecida como Poo da Sereia. Seus feitos milagrosos atraam de-
votos, peregrinos e pessoas em aflio de vrias partes da ilha, do interior do
estado e de outras partes do pas.
A cuidadosa descrio etnogrfica realizada por Castaldi nunca foi publica-
da, uma vez que ele retornou Itlia e distanciou-se da vida acadmico-cient-
fica, aps ter realizado alguns conhecidos e importantes estudos no Brasil. Em
fins da dcada de 1990 ele entregou-me o esboo inicial de sua tese de douto-
rado. Este artigo traz a traduo do texto original de Castaldi, que discutido
luz de ocorrncias posteriores sua sada de campo, morte do Irmo Vences-
lau, em 1961, e disputa que vrios grupos religiosos travam por seu legado de
terapeuta-taumaturgo e pelo espao teraputico-religioso do Milagre.3
1 Este estudo tem apoio financeiro do CNPq, do qual sou bolsista de produtividade em Pesquisa no nvel 1-C.
2 Ao terminar seu trabalho em Itaparica, seguiu para So Paulo, onde permaneceu at 1958 realizando estudos
de grande relevncia para a antropologia no Brasil. De volta Itlia, engajou-se em trabalho de consultoria em
pases rabes at aposentar-se em meados de 1990, falecendo pouco antes de completar 78 anos, em 2002.
3 O texto de Carlo Castaldi, cujo titulo O Boneco, foi escrito em lngua inglesa. A traduo para o portugus
contou com a valiosa colaborao de Maria da Conceio Santos Soares, a quem agradeo pelo cuidado e
busca de fidelidade ao significado original.
175
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 175 25/07/2013 09:08:51
carlos caroso e carlo castaldi
Introduo
O Boneco o ttulo original de um captulo da tese de doutorado de Carlo Cas-
taldi, escrita sob orientao de Charles Wagley, que foi entregue University
of Columbia, mas nunca defendida para obter o ttulo almejado de PhD em
Antropologia. Castaldi inicia seu estudo caracterizando o contexto no qual se
manifesta a presena de um terapeuta religioso com as caractersticas que so
atribudas ao Irmo Venceslau, sobre as quais so construdas vrias verses e
interpretaes. Sob forte influncia dos estudos neofuncionalistas, to presen-
tes na Columbia University das dcadas de 1940 e 1950, e de Julian Steward, o
texto iniciado com uma referncia concepo africana do sobrenatural, que
Castaldi acredita fazer parte do contexto no qual as figuras religiosas a que se
refere ocorrem com mais frequncia, particularmente em razo da presena
de traos culturais trazidos de diferentes partes da frica para o Brasil, mais
especificamente na Bahia. Ele afirma que:
A concepo africana do sobrenatural, notadamente influenciou as figuras
religiosas de diferentes origens culturais com as quais entrei em contato.
Isto poder ser exemplificado atravs da descrio de um lder carismtico,
um personagem caracterstico da tradio religiosa do Nordeste do Brasil,
cujas conotaes no Recncavo foram alteradas pelos grandes emprstimos
culturais da tradio africana.
Sendo este um dos trs estudos que realizou na ilha de Itaparica, ele si-
tua o local em relao aos outros, apresentando algumas das suas principais
caractersticas, assim como apresenta o personagem conhecido como Boneco,
Irmo Venceslau e So Venceslau, que mora no denominado O Milagre, sua
visitao exigindo comportamento adequado por parte de romeiros que che-
gam por terra ou por mar, tal como descrito por Castaldi.
Porto do Santo4 fica bem perto de So Joo, onde se pode chegar andando.
Cerca de quatrocentas pessoas habitam as oitenta casas cobertas de telhas
de barro bastante singulares, que se distribuem longitudinalmente praia,
poucos metros em direo ao interior. Chega-se vila facilmente de barco
4 A vila de Porto dos Santos, outrora teve sua economia em grande parte baseada na caa baleia, sendo fre-
quentemente referida como Porto do Santo e Porto Santo.
176
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 176 25/07/2013 09:08:51
renascido para a santidade
vela. Em verdade, o barco de linha para Itaparica fundeia ao largo prximo
a Manguinho, os passageiros que se destinam localidade embarcados ou
desembarcados por saveiros.
Quando a mar est baixa, pode-se andar de Manguinho a Porto do Santo em
meia hora. A encontra-se um homem santo chamado Venceslau, que mora
em um local denominado O Milagre, situado prximo vila. Para se chegar
ao local deve-se seguir uma picada que acompanha o curso do crrego, que
se origina em uma nascente que forma um poo. O caminho passa em frente
venda de Zizinho, onde os peregrinos param para comprar mantimentos
e velas, segue pela frente da casa da me de Venceslau, onde os visitantes
podem se hospedar quando ficam no local por mais de um dia, atravessa o
matagal e termina numa clareira sombreada. aqui que os peregrinos se pre-
param para sua visita ao santo, pois um aviso no porto de entrada de O
Milagre avisa aos visitantes que se vistam adequadamente para ter acesso
casa de Deus.
A metfora casa de Deus no apenas uma figura de retrica. A, efeti-
vamente, pelo menos do ponto de vista do beato e de seus devotos, reside um
santo que propicia alvio aos sofrimentos de quantos o procuram em aflio.
O espao sagrado adequadamente equipado para receber os devotos, assim
como sua vizinhana que, em busca dos negcios crescentes propiciados pela
presena do taumaturgo, preparou-se para atender s necessidades de mate-
riais de culto, alimentao e hospedagem dos romeiros que chegavam ao local.
A casa de Deus construda no solo arenoso da elevao ao lado do leito
do crrego. esquerda, prximo entrada, encontram-se trs cabanas: a pri-
meira um telheiro onde so guardados os andores usados para carregar os
santos nas procisses; a segunda tem aparncia de uma capela, com um altar
onde as imagens de So Bento e Cosme e Damio foram colocadas; a terceira
abriga ex-votos (fotografias e rplicas de cera), oferendas feitas pelas pessoas
que foram curadas pelo santo. O crrego, cortado por uma pequena ponte
esquerda, transforma-se em um poo. Postada em um pontilho construdo
sobre o poo, uma mulher que faz parte do squito do santo coleta gua para
encher garrafas e copos. Os copos vo pendurados em tiras da casca espi-
nhosa de uma palmeira encontrada na rea. direita, escondido pelo mato,
encontra-se outro poo maior no qual os devotos se banham. Em frente
ponte encontra-se uma capela uma palhoa de paredes de barro , onde as
cerimnias so realizadas pelo santo.
A capela abriga uma pequena escada que leva ao altar, onde se encontra uma
admirvel variedade de imagens de santos, arrumadas em prateleiras, uma
177
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 177 25/07/2013 09:08:51
carlos caroso e carlo castaldi
acima das outras, at o teto, do qual pende uma pomba, smbolo do Esprito
Santo. Entre as imagens de santos, na lateral direita do altar, uma grande se-
reia em celuloide se posta nua e graciosamente sentada sobre sua cauda. As
paredes laterais so cobertas por fotos de pessoas agradecidas, quadros de
santos, e uma pintura de um marujo encontrando duas sereias a descansar
sobre as rochas de uma praia deserta ao pr do sol. Numa cerca que vai do al-
tar ao primeiro degrau, bem vista de todos, encontra-se uma caixa de coleta
de oferendas. Na metade da escadaria encontra-se uma escultura mal defini-
da com a forma de um carneiro de cera, cuja formao milagrosa atribuda
queima das velas acesas pelos devotos. A capela ostenta a bandeira do Brasil.
Atrs da capela principal, em uma clareira cercada para evitar a entrada de
animais, encontram-se duas casas de barro-batido cobertas com palha. Es-
corada na parede lateral da casa menor, h uma mesa sobre a qual esto ar-
rumados os utenslios de cozinha, sob a sombra de um grande cajueiro, que
carrega nos seus galhos casinhas de pombos. Um cachorro, uma ninhada de
porcos e muitas galinhas so criados soltos. A casa maior tem como mobili-
rio um colcho de palha, uma espreguiadeira e uma mquina de costura. Do
lado de fora, na parede do fundo da capela, h um espelho pendurado e um
grande pente de plstico pode ser visto numa pequena prateleira.
Morte da pessoa e nascimento do taumaturgo
A descrio do Santo feita por Castaldi nos coloca diante de um homem de forte
carisma. Sua aparncia pessoal e modo de trajar-se o distinguia das demais
pessoas comuns, tudo contribuindo para reforar sua reputao de asceta e ho-
mem santo. Contudo existem discordncias entre os discursos nativos atuais,
que tm como base as memrias, os esquecimentos e o conflito de interesses
polticos da comunidade, e a descrio que feita pelo etngrafo treinado na
University of Columbia, que apresenta a descrio abaixo:
Venceslau Monteiro um homem baixo de aproximadamente cinquenta
anos. Seus cabelos negros parecem sempre midos e so cuidadosamente
penteados, seus cachos descem altura dos ombros. Sua barba excepcio-
nalmente longa; seus olhos so profundamente negros e hipnoticamente
penetrantes. Traja-se com uma tnica branca, que tem um cordo amarrado
em torno da cintura que acentua sua magreza. Um longo rosrio pende em
torno do seu pescoo. Acredita-se que ele tenha grande poder como curador
e seja dotado de segunda viso.
178
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 178 25/07/2013 09:08:51
renascido para a santidade
A trajetria do homem tinha as caractersticas esperadas para algum que
fizesse parte daquele meio, at que sua rotina seja afetada pelo infortnio, re-
presentado pelo adultrio e fuga da esposa, seguido da doena e perda da vi-
so, que em ltima instncia prenuncia sua morte civil para renascer como
taumaturgo atravs da experincia da revelao e da cura obtida por meio da
manifestao da teofania, isto , da revelao do poder divino ou supernatural
(ELIADE, 1992, p. 19), como relata Castaldi:
H sete anos Venceslau vivia em Amoreira, uma vila prxima a Porto dos
Santos. Era proprietrio de uma venda e de um barco com o qual ele pescava
e comerciava. Era prspero, mas no era perdulrio, e sempre concedia cr-
dito aos doentes e dava velas para os defuntos.
noite ele frequentemente convidava alguns amigos para virem sua venda
tocar msica, pois ele prprio gostava de tocar violo. Ele se vestia cuidado-
samente, quase ostentatoriamente, barbeava-se duas vezes por semana e em
ocasies festivas usava um lindo relgio de pulso folheado a ouro.
A doena e a crise se instalam com o adultrio e fuga de sua esposa, levando
Venceslau a precisar dos cuidados de sua me, residente em Porto dos Santos,
que se negou a deix-lo morrer num hospital. Durante os dez meses seguintes
ele ficou no leito espera da morte, porm esta separao da vida normal es-
taria por findar com a revelao onrica que ele teve numa determinada noite.
Ento, sua esposa, uma mulher de posses de Feira de Santana, lhe traiu e
fugiu com outro homem. A partir daquele momento tudo pareceu se voltar
contra ele; comeou a perder dinheiro to rapidamente que teve de vender
seu estabelecimento comercial e seu barco. Ao mesmo tempo, sua viso e
audio comearam a lhe faltar. Quando seus amigos descobriram sua en-
fermidade quiseram lev-lo para o hospital, mas sua me no permitiu, di-
zendo que no suportaria v-lo morrer longe dela. A me fez ele mudar-se de
Amoreira para Porto dos Santos, onde ele, sem dinheiro, cego e surdo, perma-
neceu no leito por dez meses.
A manifestao da teofania deu incio relao entre o homem e o santo.
A revelao que lhe foi feita por Nossa Senhora do Amparo, a santa padroeira
da localidade de Porto dos Santos, qual dedicada igreja local, o levou ao
antigo Poo das Sereias, onde banhou seus olhos e recuperou a viso.
179
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 179 25/07/2013 09:08:51
carlos caroso e carlo castaldi
Uma noite, quando se aproximava o fim da sua recluso, ele sonhou com
uma mulher vestida de branco, que apontava para um poo. No deu impor-
tncia ao sonho, at que este aconteceu pela terceira noite consecutiva. A
partir da ele concluiu que o poo do sonho deveria ser o de uma nascente
considerada sagrada desde o tempo da escravatura, conhecida como o Poo
das Sereias. Quando acordou, ele pediu para ser levado ao Poo das Sereias.
Ao chegar l ele banhou seus olhos e ouvidos com a gua na esperana de fi-
car curado, mas isto no aconteceu. Esgotado pela expectativa frustrada, foi
levado de volta para a cama. Naquela mesma noite o sonho voltou a acon-
tecer e a viso proftica lhe disse para ir novamente mesma nascente, que
se encontrava acima da que ele fora, onde encontraria outro poo de nome
gua Viva Samaritana, cujas guas lhe devolveriam a sade. De madrugada
ele obedeceu s instrues: amparado por duas garotas virgens, ele foi para
o Poo das Sereias e seguiu contra a corrente. Encontrou outro poo no qual
banhou os ouvidos e os olhos, tendo imediatamente aps ouvido uma voz
feminina que o ordenava a mover-se sozinho. Pediu s garotas que ficassem
para trs. Elas, relutantemente, uma vez que ele ainda estava cego, o deixa-
ram ir em frente. Arrastando-se sobre as mos e joelhos, ele chegou a outro
poo, banhou seus olhos novamente e assim recuperou a viso.
Contudo, a cura no foi obtida incondicionalmente. Para alcan-la Ven-
ceslau teve que seguir cuidadosamente as instrues que lhe foram dadas em
sonho por trs noites seguidas, s ento dando importncia revelao. A pri-
meira tentativa resultou em fracasso, s na segunda obteve o esperado sucesso,
quando ouviu uma voz feminina ordenando-lhe que deixasse as duas jovens
virgens que o amparavam para, sozinho, chegar ao poo onde lavou a cabea e
banhou os olhos, imediatamente recuperando a viso. Retornando casa de
sua famlia resolveu se reincorporar vida anterior, tendo, em consequncia,
perdido a condio de curado. Ocorreu uma nova manifestao onrica do sa-
grado e desta vez pde ver a santa. Falou-lhe da misso a ser cumprida com a
finalidade de obter a purificao espiritual e fazer o bem altrustico, aliviando
o sofrimento dos outros, como um sacrifcio de si como acesso ao valor, pro-
ximidade do divino, como o mito do Cristo (DUARTE, 1996, p. 8), sendo esta a
condio necessria para manter a graa alcanada.
Ele voltou sua casa jubilante. Ao sentir-se novamente forte, decidiu vol-
tar para Amoreira, mas no exato momento da sua partida perdeu a viso
novamente. Naquela mesma noite, voltou a sonhar. Desta vez, sua visitante
180
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 180 25/07/2013 09:08:51
renascido para a santidade
noturna, suntuosamente vestida de amarelo, revelou sua identidade como
sendo Nossa Senhora do Amparo. Ela lhe ordenou que voltasse para o poo
do qual doravante no deveria mais sair: O senhor no vai mais sair dali;
precisa ficar ali para o senhor zelar por todos que precisaro da Virgem do
Amparo. Sofra tudo pelo amor de Deus, no se iluda com a humanidade.
Duas virgens deveriam lev-lo novamente at a gua Viva Samaritana, e l
ele recuperaria sua viso. Ao obedecer a ordem que lhe foi dada, sua viso
voltou para sempre.
Seu reestabelecimento como pessoa de sade, acompanhado da reincor-
porao na condio de guardio do espao sagrado que lhe foi destinado pela
hierofania, exige renncia e ascetismo. Durante quatro anos ele morou junto ao
poo seguindo todas as instrues que lhe foram dadas pela Santa, como forma
de preparar-se espiritualmente para cumprir a misso para a qual estava desti-
nado e exercitar seu dom de taumaturgo, que vieram a ser amplamente conhe-
cidos e recorridos por muitos que buscavam a graa e alvio de seus sofrimen-
tos corporais e emocionais. Da experincia corporal de tornar-se pessoa santa,
prossegue Castaldi com o relato do que detalhadamente lhe fez Venceslau:
Venceslau continuou sua histria falando-me que, quando voltou ao poo
para morar l, tinha medo, e que a ideia de que ele jamais poderia sair da-
quele lugar o deixou em desespero. Contudo, mesmo com a insistncia dos
seus parentes em lev-lo para casa, ele permaneceu ali e, de acordo com a
ordem da Virgem, comeou a construir uma capela em sua homenagem. Sua
vida tambm era controlada por ela em todos os detalhes: determinou sua
dieta: frutas, po e gua; ordenou-lhe que dormisse no cho em frente ao
altar; proibiu-lhe de ler ou escrever de forma que estivesse sempre atento s
suas ordens. Proibiu-lhe de comprar, vender ou pedir esmolas, pois deveria
viver da caridade. Proibiu que cortasse o cabelo ou fizesse a barba; proibiu-
-lhe ainda de usar outra roupa que no fosse uma tnica branca. Se seguisse
todas as regras seu corpo entraria em sintonia com o mundo invisvel e se
desenvolveria para receber os espritos, que lhe dotariam de poder terapu-
tico e dom da profecia.
O rito de passagem no sentido que lhe atribui van Gennepp (2011) a que
se submete Venscelau, na forma da solido inicial a que se refere, no s uma
prova de sua f, mas tambm faz parte do aprendizado corporal e intelectual da
transio e ingresso na vida de santo. Ele se comunicava com o plano celestial
181
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 181 25/07/2013 09:08:51
carlos caroso e carlo castaldi
atravs da msica que ouvia e das imagens que via, que lhe forneciam elemen-
tos para desenvolver seu poderes teraputicos e criar a santidade que estava por
vir. A solido somente quebrada como resultado de sua primeira ao tera-
putica bem sucedida. A mulher que ele promoveu o alvio do sobrimento cor-
poral no saiu mais do local em que ele se ps em solido, tornando-se sua co-
-elaboradora e executora do drama social (TURNER, 2008), que veio a lhe dar o
reconhecimento definitivo de taumaturgo e verdadeira deidade viva, seme-
lhana de tantos outros encontrveis no hagirio catlico e de outras religies.
Consequentemente, Venceslau viveu sozinho na margem do poo por quarto
anos. A solido era difcil de ser suportada, mas ele ouvia melodias celestiais
e as coisas que via lhe propiciavam o que ele chama de televiso espiritual.
Depois ele recebeu a visita de Dona Avani. Ela viera de Mar Grande, onde mo-
ravam seus pais, com esperanas de conseguir alvio para uma doena que os
mdicos nem sequer podiam diagnosticar, muito menos curar, depois de ter
sido gasto todo o pouco dinheiro que a famlia possua. Avani voltou a Mar
Grande bem melhor de sade, contudo ainda se encontrava muito enfraque-
cida para retornar s suas atividades de balconista em uma loja na Bahia, e
teve uma recada um ms mais tarde. Sua me a levou de volta a Venceslau
e o implorou que a mantivesse com ele. Ela ficou curada e nunca mais saiu
daquele lugar.
Destino e sina: signos precussores da divindade
Em consonncia com as preocupaes da antropologia na poca, Castaldi dei-
xa claro que a verso obtida por ele aquela do prprio Venceslau, no sendo
inteiramente confirmada por outras pessoas que o conheceram. Identicamente,
as entrevistas realizadas, quarenta e sete anos depois, com pessoas que foram
interlocutores de Castaldi, assim como um texto produzido por um contempo-
rneo de Venceslau e publicado num jornal dirio de Salvador em 1981, apre-
sentam outras interpretaes que evidenciam algumas questes relacionadas
prpria reconstruo da tradio oral atravs da memria e dos esquecimen-
tos desprovidos de interesse e/ou intencionais, que servem aos interesses dos
diferentes momentos, bem como por meio das interpretaes que so dadas ao
mesmo fenmeno de acordo com os conflitos e prioridades que se encontram
182
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 182 25/07/2013 09:08:51
renascido para a santidade
em jogo, o que ser visto claramente quando analisarmos a disputa pelo poder
e o valor que vem a ter Venceslau em diferentes momentos da sua trajetria,
questo que j levantada por Castaldi em seus escritos etnogrficos.
A histria de vida relatada nas pginas precedentes a verso da verdade idea-
lizada por Venceslau. Os fatos, tais como obtive de pessoas que o conheceram
durante toda sua vida, parecem confirmar sua verso apenas parcialmente.
Quando Venceslau ainda era criana, se apresentaram os primeiros com-
portamentos que o distinguiam das demais pessoas, que viriam a ser os sinais
precurssores de seu dom de taumaturgo. A fora espiritual da qual se acreditava
ser ele dotado j se prenunciava e interferia em sua vida a partir de brincadeiras
infantis, com o intuito de assustar as pessoas e reforar suas crenas em um
mundo sobrenatural, tal como este que foi registrado e relatado por Castaldi.
Venceslau era ainda beb quando seus pais se mudaram para a ilha. poca,
Itaparica era um centro da indstria de caa baleia, que oferecia muitos
empregos e comida barata para todos. Aqueles so considerados os dias de
ouro da ilha. Um pescador profissional, Manoel Paulo Monteiro, era um fer-
voroso esprita durante o tempo livre. Sua casa era o centro destas atividades
e ele ficou famoso por ter uma mesa enfeitiada, que com o passar do tempo
aumentou em tamanho e peso.
A mesa era periodicamente afetada por fenmenos durante os quais empina-
va violentamente, atirando ao cho qualquer coisa que fosse colocada sobre
esta. A famlia chamou um padre para exorciz-la, o que a levou a ficar em
paz por algum tempo aps o exorcismo. Contudo, num dia em que se reali-
zava uma sesso esprita, o episdio se verificou mais uma vez. Alguns dos
participantes mais cticos olharam, discretamente, sob a toalha que a cobria,
caindo at o cho, a vendo Venceslau. Porm seus seguidores negam que
a estria seja verdadeira. Aceitam que ele movia a mesa por ter fora, no
porque estivesse usando algum artifcio. De qualquer forma, o que fica claro
na maledicncia que quando era menino Venceslau esteve em contato com
prticas espritas, que provavelmente lhe forneceram ideias para seu futuro.
O talento e dons precoces que ele exibia chamaram ateno sobre seu com-
portamento diferenciado dos demais com os quais convivia, levando um prati-
cante esprita a propor desenvolv-los, sendo impedido pelo apego emocional
do seu pai, que no deixou que ele fosse retirado do convvio da famlia para
183
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 183 25/07/2013 09:08:51
carlos caroso e carlo castaldi
receber ensinamento em Salvador. Contudo, sua exposio s prticas religiosas
afro-brasileiras foi comum, tanto sob a forma de frequncia regular a terreiros de
Candombl como atravs de seu padrasto, que era um dos mais famosos pais-de-
-santo da ilha de Itaparica.
Por outro lado, ele parece ter apresentado caractersticas medinicas que
atraram a ateno de um famoso esprita de Salvador, que veio v-lo e im-
pressionou-se tanto com seu talento que pediu permisso ao senhor Mon-
teiro para lev-lo e dar-lhe treinamento adequado. Porm o pai disse-lhe
que no podia separar-se do seu Boneco, apelido que o acompanhou at
os dias atuais.
Exceto por este episdio, a vida de Boneco seguiu o padro normal, no sen-
do lembrado nada particular ou peculiar sobre ele. Aprendeu os vrios ofcios
atravs dos quais os homens da regio conseguem sobreviver, tocava violo
e frequentava Candombl. Em consequncia das pequenas alternativas de
divertimento oferecidas pela vida social na ilha, uma festa de Candombl
um evento que raramente se perde e todos sabem alguma coisa a respeito
do culto. Aps a morte do seu pai, Venceslau foi apresentado ao Candombl
atravs do seu padrasto, que adquiriu para si uma fama de ser um dos mais
falados pais-de-santo de Candombl em Itaparica.
Ao tornar-se adulto, mostrou-se ser um hbil comerciante, como j foi des-
tacado anteriormente. Porm suas experincias amorosas fracassadas e a do-
ena o levaram condio de ostracismo social, separando-o da vida profana
que at ento conduzira e abrindo caminho para seu ingresso na vida santifi-
cada e mtica que veio a ter at o fim de seus dias.
Na juventude ele trabalhou para o proprietrio de um armazm, chamado
Salvino, e ganhava algum dinheiro extra com a venda de pules de bicho e
atravs do comrcio de garrafas vazias. Algum tempo depois, Salvino lhe aju-
dou a dar incio ao seu prprio negcio. Venceslau comprou um pequeno
barco vela e comeou a comerciar. Ele vendia na feira do Bonfim (fazia a
feira do Bonfim) e era considerado um comerciante muito esperto. Mais tar-
de ele abriu um armazm em Amoreira, onde tambm estabeleceu residn-
cia. Ainda jovem, ele vivia com uma mulher em Amoreira, com quem teve
uma filha que morreu com poucos anos. Casou-se com uma mulher de Feira
de Santana que se cansou dos seus maus tratos e o deixou sem levar nada do
seu dinheiro. Quando a perdeu, ele comeou a ficar cego e surdo. Seguiu-se
um perodo de total desprezo, depois do qual, como vimos, ele renasceu para
a santidade.
184
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 184 25/07/2013 09:08:51
renascido para a santidade
Santidade e prtica teraputica
Sua condio de curado pela graa da divindade que se manifesta a ele atribui-
-lhe tambm um conjunto de obrigaes a serem observadas para garantir a
manuteno da graa alcanada atravs da constante renovao da crena e
docilizao do corpo, no sentido que considera Foucault (1995), ao estabelecer
os sinais diacrticos de sua santidade. Entre as determinaes que lhe foram
feitas, encontra-se morar no local onde obtivera a cura, transmutando o Poo
das Sereias em Poo do Milagre, ou, simplesmente, O Milagre. A vida no Mila-
gre passa a ser detalhadamente pautada por rituais elaborados em conjunto por
Venceslau e Avani, sua primeira experincia corporal de cura, que os encenam
sob a forma de rgida rotina diria de atendimento aos que a buscam algum
conforto para seus sofrimentos individuais ou sociais.
Desde ento ele mora no Milagre, onde a vida cotidiana veio a se tornar al-
tamente baseada na rotina. Venceslau inicia seu dia s sete horas da manh.
J quela hora ele se encontra impecavelmente cuidado, rezando diante do
altar. Ao terminar a orao, ele faz o sinal da cruz, ajoelha-se, bate no altar
para pedir a permisso de Nossa Senhora para sair e anda em direo ao
pontilho que conduz ao poo. Avani (uma mulher alta e magra de apro-
ximadamente vinte e quarto anos de idade, olhos negros e cabelos negros
presos numa trana, tambm usa uma tnica branca) e alguns visitantes
matinais enfileiram-se sobre a ponte, donde olham para a gua. Depois de
ficar em completo silncio por algum tempo, Boneco se ajoelha, pega uma
concha pendurada numa palmeira e coleta uma poro de gua, derraman-
do uma parte de volta ao poo sua frente, sua direita e esquerda. Come-
a a cantar Santa luz, santa lua, santa estrela, santa f, santa igreja, tendo
seus braos abertos como na clssica iconografia crist. Quando termina,
Avani entoa os cnticos com sua voz estridente. A esta altura o sol ilumina
a face de Venceslau, que, sorridente, fecha os olhos; ao reabri-los, seu corpo
fica ligeiramente arrepiado; ele se levanta e abenoa a gua com um gesto
largo; inclui todo o mundo em sua bno. Ele olha firmemente para o sol
como se este tivesse lhe dirigido um elogio, lanando uma questo retrica:
Ele?, diz, balanando o dedo em autodesaprovao: Ele no nada. A ver-
dade Deus, apontando diretamente para o sol.
Quando Avani termina suas litanias, Venceslau apregoa as qualidades da
gua: Luz... piedade... salvao... cura radical... fonte de vida.... gua viva...
Samaritana.... As mulheres ecoam: sincero.
185
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 185 25/07/2013 09:08:51
carlos caroso e carlo castaldi
A reencenao diria na forma de construo mtica e experincia corpo-
ral deste drama criado por Venceslau, tendo como diretor de cena sua compa-
nheira Avani, resulta na prpria criao e consolidao do mito. Venceslau
reconhecido pelo poder que dele emana e por seus feitos, no havendo algum
que duvide destes entre os que acorrem aos seus servios, mesmo quando evi-
dncias contrrias poderiam ser percebidas se o olhar fosse dotado de maior
crtica. Assim, com relao lgica que ordena o pensamento e construo
retrica da prtica de Venceslau, Castaldi diz que ele
[...] constantemente se referia a um livro de grande antiguidade, que um
dia pedi para ver. O ttulo era gua Viva, Samaritana, que pertencia a uma
srie intitulada Jesus e a Mulher, escrita por Alcebades Delamare e publicado
no Rio de Janeiro em 1927. O livro continha reprodues de muitas pinturas
sagradas que Venceslau afirmava serem sobre ele e seu poo.
Neste ponto Castaldi observa como o envolvimento com a devoo inter-
feria na percepo, ao registrar que A credulidade de Venceslau e das pessoas
a quem ele mostrava [as reprodues das gravuras] no sofria nenhum abalo
pela total ausncia de semelhana.
pregao e cnticos seguem-se os atos de proselitismo elaborados sob
a forma de metforas, que so praticados com a inteno de difundir e refor-
ar a crena na divindade de Venceslau, resultando em efeitos diretos sobre
os seguidores que vm em busca de alvio para seus sofrimentos, ou apenas
acompanham aqueles que necessitam de apoio na sua busca individual. No
importa qual seja a inteno dos que a chegam, todos so de alguma forma
tocados pelos atos realizados e o atendimento individual que se segue.
Ele volta a se ajoelhar no pontilho. Avani traz um copo longo que ele enche
de gua. Faz o sinal da cruz, ora silenciosamente e pega o copo com se fosse
um clice, do qual bebe. Eleva o clice em solene oblao e, depois de nova
orao, volta a beber a gua; a seguir toca o copo na testa, ombros e peito.
Esta cerimnia leva cerca de meia hora, tempo durante o qual seus tremores
vo num crescendo de violncia como resultado da fora que incorpora
nele.
As mulheres se ajoelham no pontilho, de cabeas baixas, com as palmas
das mos estendidas em direo a Boneco para se protegerem da irradiao.
Quando Venceslau se levanta, elas se aproximam dele timidamente e beijam
sua mo; por sua vez, ele pe as pontas dos seus dedos nas frontes que se
186
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 186 25/07/2013 09:08:51
renascido para a santidade
levantam em sua direo, com seus braos tremendo por causa da fora.
Todos entoam mais hinos e voltam-se para o poo. Venceslau curva-se em
mesura e deixa o pontilho indo orar diante do altar em atitude de fervorosa
adorao. Quando termina a cerimnia, Avani comea a cantar o hino na-
cional, todos que se encontram presentes acompanham enquanto Boneco
lentamente desfralda a bandeira.
A clientela de Venceslau constituda de indivduos provenientes da pr-
pria ilha e de outros lugares mais longnquos, como relata Castaldi. No so
incomuns pequenos grupos em romaria, que vm pedir ajuda ao homem santo,
que por sua vez aproveita a ocasio para mais uma vez reforar a crena dos
seus seguidores atravs de um comportamento idiossincrtico, evidenciador
de sua santidade e do grande poder que lhe dado por ser um homem de saber
e por ter a capacidade de operar milagres que se manifestam em forma de mu-
danas corporais, recuperao da sade perdida, harmonizao dos corpos s
condies de aflies insperveis.
Agora Venceslau encontra-se pronto para receber as pessoas em audincia.
Seus seguidores vm de toda a ilha de Itaparica, da Bahia e do Recncavo. So
camponeses, pescadores, pequenos comerciantes ou trabalhadores rurais,
todos tm em comum a pobreza e o analfabetismo. Frequentemente vm em
grupos, entoando hinos e eventualmente soltando um rojo ao longo do seu
caminho; vestem suas melhores roupas e carregam os sapatos em uma das
mos.
Venceslau os recebe sentado em uma cadeira do lado direito do altar. De-
pois de abeno-los e permitir que suas mos sejam beijadas em defern-
cia, ele os conduz a rezar. Ele tambm lhes pergunta como tiveram infor-
maes sobre ele; quando ouve as respostas, exclama: Ento viva a Virgem
do Amparo!. A seguir, cuidadosamente testa a f dos romeiros perguntan-
do-lhes sobre sua identidade; a resposta desejada que lhe d certeza da f
do visitante : So Venceslau. Se a resposta : O Senhor Venceslau, ele
se volta desdenhosamente para um dos seus assistentes, de preferncia
para sua me, e repete a questo. Mas nem sempre ele recebe a resposta
que deseja ouvir, pois de fato difcil dar uma resposta correta. As pessoas
podem apenas supor qual dos muitos espritos encontra-se em seu corpo
no momento. Frequentemente ele agradece dizendo ele mesmo quem .
Este tambm o momento em que Venceslau aproveita para dar provas
do seu poder para os descrentes e reforar a crena dos seus aclitos. Atos que
187
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 187 25/07/2013 09:08:51
carlos caroso e carlo castaldi
pareceriam, no mnimo, de crueldade descabida, tal como cegar parcialmente
uma pessoa descrente que age de maneira insultuosa diante dele, passam a ser
interpretados como prova de sua competncia, sendo a limitao do ato cruel
considerada um ato piedoso de sua parte, tal a devoo que seus seguidores
lhe dedicam.
No momento que o procuram, os visitantes frequentemente encontram-se
muito doentes, mas se ele percebe alguma hostilidade ou ceticismo, conta o
que aconteceu a outros descrentes, muitos dos quais foram punidos por seus
protetores sobrenaturais, at mesmo enquanto se encontravam sua frente.
Ele particularmente gosta de relatar a retribuio recebida pelo Senhor M.
Ele veio com sua me, uma mulher de muita f, mas no acreditava na fora
de Venceslau nem no poder da gua; comportou-se de maneira insultuosa e
foi punido com a perda de um olho; somente por compaixo pela me, Ven-
ceslau o poupou de ceg-lo totalmente.
As ameaas orgulhosamente explicitadas por Venceslau funcionavam ame-
drontando os cticos e fortalecendo a f dos crentes.
Na condio de Santo so vrios os papis desempenhados por Venceslau
nos cuidados daqueles que o buscam para tentar resolver seus problemas e
aflies. Para dar conta das demandas que lhe fazem, ele usa vrias abordagens
propeduticas e tcnicas diagnsticas com vistas a oferecer diagnsticos apro-
priados para os problemas que lhe so apresentados por seus aclitos. No
obstante a variedade de maneiras de identificar causas e explicar as doenas,
comumente ele busca a explicao atravs de problemas espirituais, sendo seu
exorcismo frequentemente a resoluo dos problemas.
As pessoas acorriam a ele para serem curadas, ajudadas, ou aconselhadas. A
despeito das variaes na sua tcnica, ele sempre tem o cuidado de identi-
ficar espritos malignos como a fonte de qualquer dificuldade. Um esprito
revelado atravs de uma aura peculiar em torno do corpo. Se a pessoa es-
tiver doente, o esprito deve ser malfico, sendo necessrio retir-lo. Contu-
do, estes espritos s poderiam ter se apossado do corpo se o prprio corpo
estivesse impuro. Consequentemente, o passo essencial uma purificao
imediata. Esta pode ser conseguida pelo banho no poo sagrado ou em gua
que passe por preparo especial; uma infuso de ervas, tais como folha de gui-
n e capim caboclo; bebendo ch especial, ou sendo defumado com incenso
e folhas de pitanga. Sua fora poder ento completar o tratamento.
188
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 188 25/07/2013 09:08:51
renascido para a santidade
Alguns dos espritos com os quais Venceslau se comunica revelam suas iden-
tidades e histrias pessoais; outros, tais como os de pedintes surdos, tm
suas identidades escritas no peito. Aps reconhecerem o poder de Venceslau,
pedem perdo e imploram que ele pea s suas famlias que lhe mande rezar
missas. Alguns ousam desafi-lo, o que causa sria aflio na mente e corpo
de suas vtimas. Estes precisam ser exorcizados. Uma cena tpica se desen-
rolou desta maneira: Venceslau olhou diretamente para uma mulher que se
encontrava distante. Voc esta morrendo de frio, ele disse, e fez um sinal
para que ela se aproximasse dele. Pediu-lhe que se ajoelhasse e colocou a
mo na sua fronte. Balanando a cabea disse: Eu entendo, eu entendo, ns,
os espritos, entendemos uns aos outros. A mulher comeou a gemer, pro-
ferindo palavras inteiramente incompreensveis; todos podiam ver que ela
estava possuda. Que Deus lhe d alegria, que o Esprito Santo lhe d carida-
de e claridade, cantou Venceslau. A gemedeira continuou: Viva o Senhor do
Bonfim, clamou Venceslau. Viva!, entoaram os presentes, acompanhan-
do com palmas. Avani trouxe um copo dgua e entregou a Venceslau, que
derramou sobre a cabea da mulher e estalou os dedos, levando-a a reviver.
Perguntou-lhe o que tinha acontecido; ela no pde dar uma resposta, mas
ficou claro para todos que o esprito maligno tinha ido embora.
s vezes a pessoa possuda evidencia todos os signos de um fenmeno se-
melhante no Candombl. Por exemplo: em um dia de Santa Brbara (a qual,
como ser lembrado, identificada com a deusa africana Yans), uma gran-
de romaria constituda por aproximadamente quarenta pessoas chegou ao
poo. Era encabeada por trs crianas vestidas de branco, seguidas de perto
por um homem descalo usando um terno branco, com as calas enroladas
at os joelhos, que subiu os degraus do altar sobre suas mos e joelhos. Avani
comeou a cantar um hino para Santa Brbara: Imprio de santidade, prote-
tora e advogada. Ao fim deste, Venceslau comeou a falar que Nossa Senhora
do Amparo lhe disse que a fama de sua devoo percorreria o mundo, e quan-
do ele via tais demonstraes de f tanto para com sua pessoa quanto para
o Milagre, seu corao se enchia de alegria. Prosseguiu lembrando aos seus
ouvintes de todas as pessoas que ele curara e das coisas extraordinrias que
ele havia profetizado ou realizado, deixando implcito que a fama que ele e
o poo tinham no deixavam de ser merecidas. Ao fim, Venceslau pergunta:
De onde vm os homens?; a resposta esperada Do barro, porm da multi-
do vem uma resposta diferente: Da costela de Ogum.
meno de Ogum, o Deus Guerreiro do panteo do Candombl, uma garota
possuda. Ela geme, tem os olhos fechados e os ombros movimentam-se con-
vulsivamente. Suas pernas esto arqueadas e mantidas bem abertas. As pesso-
as do-lhe espao. Venceslau a abenoa e invoca a proteo de Jesus, Maria e
Jos, dizendo-lhe: Venha a mim, se puder. A garota joga-se para frente, suas
189
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 189 25/07/2013 09:08:51
carlos caroso e carlo castaldi
mos fechadas como garras. Ele ordena que ela no seja tocada e pergunta o
nome do esprito. Algum responde Oxal. Venceslau convida o esprito a fa-
lar, no recebendo nenhuma resposta. Avani tem o incenso pronto e, enquan-
to a garota inala a fumaa, entoa um hino. A garota cambaleia em direo a
Venceslau, com as mos assustadoramente travadas at chegar perto dele,
quando lhe estende uma mo e ajoelha-se em frente a ele: Paz para a matria,
luz para os espritos.... Avani traz gua e Boneco borrifa a face da garota, e de-
pois a pe de p. A garota parece estar atordoada e algumas mulheres acorrem
para segur-la para que no caia. Puxados por Avani, todos entoam um hino a
Santa Rita dos Impossveis, a So Pastorinho (talvez Negrinho do Pastoreio?),
a Santo Antnio, seguidos pela garota que agora canta com todo vigor.
Venceslau faz distino entre os espritos que falam e os que no o fazem.
Estes ltimos so chamados espritos brutos, fazendo uso de uma palavra
tpica da linguagem do Candombl. Na verdade, no Candombl o santo que
se apossa do no iniciado denominado santo bruto porque a iniciao
o perodo durante o qual o santo educado.
A revelao feita pelo esprito purificado muitas vezes resolve conflitos atra-
vs da explicao dada a respeito da causa de uma dificuldade particular.
Por exemplo, um homem chamado Antonio uma vez veio ver Venceslau com
sua esposa e filha pequena. A criana sofria de violentos ataques durante os
quais seus olhos viravam e ela tremia convulsivamente. Venceslau mandou
Avani lev-la para a capela e incens-la. Disse que a garota estava com um
esprito que seria retirado. Disse que era possvel que o esprito entrasse em
outra pessoa e revelasse sua identidade e admitisse seus pecados. Tinha aca-
bado de falar quando uma das mulheres do seu squito comeou a tremer e
gemer. Aos poucos a estria foi contada: o nome do esprito, aparentemen-
te, era Manoel Rodrigues de Jesus, que tinha morado na mesma vila onde
viviam os pais da garota, tendo morrido h cerca de dezoito anos, quando
o pai da garota tinha apenas seis anos. Ele confessou ter sido um homem
muito mau, que desejava a infelicidade para todos. Ele soltou um grito e seu
aparelho temporrio bateu no peito em agonia, implorou esquecimento e
caiu da escada; dois homens apressaram-se em segur-la. Terminada a con-
fisso, Venceslau libertou a mdium incensando-a e aspergindo gua sobre
sua cabea. Agora que a estria foi contada, o esprito arrependido perdera
seu poder e doravante no poderia mais fazer mal criana. Venceslau reco-
mendou que lhe fosse dado Biotnico para restaurar suas boas energias e que
fosse incensada durante as quatro prximas semanas. Aconselhou os pais a
trazerem a criana de volta em um ms para um exame cuidadoso. Imediata-
mente ele comeou a salva de vivas.
190
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 190 25/07/2013 09:08:51
renascido para a santidade
Recursos teraputicos
A prtica teraputica religiosa de Venceslau o leva a se apoderar e criar vrios re-
cursos, instrumentos, linguagem, idiomas e tcnicas, visando desenvolver sua
prpria propedutica mdica e obter os resultados desejados na transformao
corporal daqueles que o buscam em aflio para promover o alvio de seus so-
frimetos. Castaldi identifica e registra vrios destes instrumentos, atos e feitos,
relatando alguns tratamentos e recompensas recebidas pelos que o buscavam:
As tcnicas teraputicas de Venceslau no so limitadas ao uso da gua do
poo. Ele se vale de todos os remdios do conhecimento popular local e tam-
bm cura por meio da gua e velas. No ltimo caso o procedimento o se-
guinte: uma mesa coberta com toalha branca e decorada com flores brancas.
Sobre esta so colocados um copo dgua e uma vela. O tratamento consiste
em misturar a cera derretida da vela com gua e espalhar sobre o corpo do
paciente. Outra maneira , logo depois de tomar banho, o paciente deve pas-
sar trs velas virgens sobre a parte afetada do corpo, uma aps a outra, que
so a seguir oferecidas ao santo protetor.Outro tratamento o que Venceslau
denomina radiao. Ele acredita que tenha poder de transmitir raios be-
nficos que podem mudar as energias do paciente para melhorar. Tambm
conhece muitas rezas para todo tipo de queixas, tais como dor de cabea, dor
de dente, picadas de animais e tambm contra olhado.
A lista de problemas sobre os quais Venceslau consultado seria muito longa,
uma vez que a prpria vida que lhe exposta em todos seus aspectos. Al-
gumas mulheres lhe perguntam se seus maridos infiis retornaro, se tero
um bom parto, ou se o pai do filho do qual esto grvidas cuidar dele. Pedem
notcias de parentes e amigos distantes, buscam cura para bbados, ou mes-
mo a interveno de Nossa Senhora do Amparo para conseguirem um bom
emprego no continente: Rogo-lhe, So Venceslau, que pea a Nossa Senhora
do Amparo que me ajude, pois no posso fazer nada sem a ajuda Dela. Peo a
Ela que ilumine o diretor da Fbrica Sousa Cruz, Sr. Franco, de maneira que
ele no tenha boca para dizer no, o ilumine de tal maneira que no me ne-
gue um emprego. Deus lhes abenoe!.
Estes aspectos prticos da vida aparecem mais frequentemente em questes
que lhe so feitas pelos homens locais: a melhor mula de Agenor foi roubada
e ele foi consultar o velho. Venceslau lhe disse que ele encontraria a mula.
Passaram-se dois meses e a mula no foi encontrada. Agenor enviou sua es-
posa, Niceta, para novamente consultar Venceslau, que repetiu sua promes-
sa anterior. Passados quatro meses, Agenor encontrou a mula no momento
191
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 191 25/07/2013 09:08:51
carlos caroso e carlo castaldi
em que o ladro tentava vend-la. Logo que recuperou a mula foi montado
nesta ao Milagre para mostrar a Venceslau que ele tinha razo.
Vav tinha fortes sentimentos de amizade em relao sua mula. Um dia
foi montado para uma festa, amarrando-a a um mouro. Durante a noite ele
sentiu que as coisas no corriam bem com o animal, retornou ao local onde o
amarrara e encontrou a mula cada no cho, gravemente machucada, aparen-
temente como resultado da tentativa que fez de livrar-se da corda na qual ti-
nha se emaranhado. Vav jurou que se a mula se salvasse ele levaria uma vela
ao Milagre. A mula recuperou-se e o homem e o animal foram juntos pagar
a promessa. Antonio, um motorista de caminho, tinha comprado um carro
velho e depois de consert-lo tentava vend-lo com pouca esperana de su-
cesso. Ele escreveu para Venceslau: Tenho que vender meu carro e at agora
ningum se candidatou a compr-lo. Por favor, reze para Deus me ajudar. Ele,
com seu poder, deve fazer alguma coisa para me tirar desta situao (faa
qualquer coisa pra sair disso). Responde-me logo que puder e Deus lhe pagar.
Um marinheiro estava muito preocupado em ser aprovado num concurso.
Queria que Nossa Senhora do Amparo lhe ajudasse sobre duas provas que
vou fazer, que tm sido uma reprovao tremenda (sic), filho de gente rica
tem sido reprovado. Meu padrinho, minha vida rogar a Nossa Senhora do
Amparo, mande dizer a minha situao, j vivo com os olhos inchados (sic)
de estudar. Ele foi aprovado no concurso.
Um pescador que perdeu suas redes de pesca encontrou-as atravs dos of-
cios de Venceslau.
Um funcionrio pblico recebeu, atravs da intercesso de Venceslau, uma
imensa graa, tendo o governo lhe pago o salrio atrasado dos ltimos qua-
tro meses. s seis horas da tarde o Milagre encerra seu dia. quase escuro
e as pessoas gostam de voltar para Porto do Santo antes que a noite caia. Os
visitantes se renem nos degraus da Capela, alguns ainda pingam gua mi-
lagrosa. Avani comea a cantar enquanto Venceslau ora. Depois que a ltima
ladainha entoada, Avani comea a cantar o hino nacional. Boneco conduz
a msica com uma mo e com a outra ele desce a bandeira. Ao fim do hino
nacional, ocorre a troca de bnos. As mulheres colocam as garrafas cheias
de gua Viva Samaritana sobre suas cabeas e, em pequenos grupos, cami-
nham em direo vila.
Posio do culto e jogo de poder
Venceslau mostrou criatividade ecltica escolhendo aqueles elementos do
Candombl, Espiritismo e Catolicismo que podiam tornar seu culto atraente
para uma audincia mais ampla e socialmente mais diversificada, contudo,
192
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 192 25/07/2013 09:08:51
renascido para a santidade
ao reconhecer Nossa Senhora do Amparo como a fora inspiradora da de-
voo e ao pedir sua proteo ele se colocou em posio antagnica quela
do restante dos moradores locais, uma vez que Nossa Senhora do Amparo
a Santa Padroeira de Porto do Santo. Nossa Senhora, dizem eles, sempre
teve uma igreja em Porto do Santo. Agora o Milagre absorve todo interesse
e dinheiro dos visitantes em detrimento da casa oficial de Nossa Senhora.
O grupo hostil a Venceslau liderado pela zeladora da igreja, uma mulher
biliosa chamada Maria, que abertamente acusa Venceslau de ser uma frau-
de e ser ladro, porque ele faz uso pessoal da gua e do nome de Nossa Se-
nhora, que so riquezas pertencentes ao fundo da comunidade.5 Enquanto
os ataques de Maria a Venceslau so diretos, seu filho lhe move uma guerra
mais sutil. Sendo proprietrio de um pequeno armazm que fica na praa
principal de fato um campo gramado , ele tem contato dirio com muitas
pessoas. Se Venceslau discutido, Alvinho assegura que ele cura as pessoas
somente porque usa um meio poderoso, a gua. Alvinho ouviu tais termos,
como raios-x, diagnstico, injees intramusculares etc., com os quais
ele tempera suas falas como um mdico charlato em uma pera cmica. Os
ouvintes reconhecem que ele um homem instrudo, e quando ele atribui
todo o crdito gua, que acreditam ser de todos, tanto quanto Nossa Senho-
ra nossa Me e no apenas dele, acaba atraindo muito apoio. Alvinho afir-
ma ainda que Nossa Senhora seria mais adequadamente venerada na igreja
deles do que em uma palhoa.
Naturalmente Venceslau sabe o que pensam Maria e Alvinho. Maria, diz, es-
taria melhor preocupando-se com seu comportamento cristo ao invs de
difam-lo; e ao invs de conversar tanto, ela deveria pag-lo por sua imagem
de So Bento [aparentemente So Benedito], que, por crueldade, ela decapi-
tou na ocasio da festa de 1949.
No dia 27 de janeiro Porto do Santo realiza uma comemorao anual para sua
Santa Padroeira, com uma festa que se estende por trs dias. Um grupo indi-
cado de homens (juzes) e mulheres (juzas) assume a responsabilidade pela
organizao e finanas. As mulheres arrumam tudo com os padres, ornamen-
tam a igreja, preparam a comida e ajudam a angariar fundos. O grupo deste ano
tambm selecionar os juzes e juzas do prximo ano, geralmente dentre as
pessoas que podem contribuir para o fundo [observando as categorias identifi-
cadas por Wolf (1966), neste caso ser o fundo ritual] com ddivas substanciais.
Muitas vezes, as pessoas que querem aumentar ou confirmar seu prestgio
social colocam suas candidaturas para o prximo ano e os nomes dos esco-
lhidos sero lidos pelo padre na igreja. Venceslau tinha interesse em organizar
uma peregrinao para o Milagre durante esses dias e financiou a candidatu-
5 Um dos fundos econmicos, no sentido que vem lhe atribuir Wolf (1966) mais de uma dcada depois.
193
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 193 25/07/2013 09:08:51
carlos caroso e carlo castaldi
ra de Vicente, seu cunhado. Este patrocnio ocorreu quando Vicente, homem
de posses limitadas, pde oferecer dinheiro suficiente para ser eleito em 1949.
Como uma das atraes da festa e com o acordo da comisso, Vicente organi-
zou uma procisso ao Milagre que deveria comear na igreja de Porto do Santo.
Todas as imagens de santos existentes na igreja deveriam ser levadas, a primei-
ra sendo a imagem de Nossa Senhora. Uma procisso no uma procisso sem
a imagem de So Bento [indica ser a imagem de So Benedito], um santo negro
muito popular entre as classes baixas, mas como a igreja no tinha esta ima-
gem, Venceslau prestou um favor comisso emprestando a sua. A procisso
ocorreu, no apenas servindo de excelente propaganda para Venceslau, como
tambm trazendo bons retornos monetrios para o Milagre. tarde todas as
imagens dos santos retornaram para a igreja, incluindo a de So Bento. Na ma-
nh seguinte, esta foi encontrada cuidadosamente decapitada, a suspeita de
culpa recaindo sobre Maria. A comisso optou por evitar uma guerra intestina,
e quando Vicente, eleito juiz para o prximo ano, props novamente organizar
a procisso, no encontrou qualquer apoio.
Outro inimigo Henrique, proprietrio da terra onde Boneco se estabeleceu.
Venceslau acha que no deve pagar aluguel porque eu no chupo cajus, eu
no como dend (querendo dizer que no faz uso dos frutos da terra). Ele
no tem dinheiro, e age em nome de Nossa Senhora do Amparo; no sua
obra o poo se encontrar localizado no territrio que pertence a Henrique.
Henrique, que pai de onze filhos por esta razo j amargurado com a vida
, acha que isto seja injusto e pede que Boneco pague aluguel mensal de 300
cruzeiros, pelo menos durante o vero, poca em que o Milagre tem o maior
nmero de visitantes por serem bons os ventos para a navegao para a ilha.
Boneco recusa-se a pagar mais do que 50 cruzeiros por ano. Deus, ele diz, lhe
ordenou a no pagar nem um centavo a mais. A prxima tentativa de Henrique
foi de interessar o padre da cidade de Itaparica (em cuja jurisdio eclesistica
encontra-se Porto do Santo), propondo ao padre que ele mandasse Boneco di-
vidir os ganhos auferidos pelo Milagre entre os trs, ameaando-o de chamar
ateno da Igreja oficial para suas atividades. O padre se recusou a participar
da tramoia. No precisa dizer que Henrique no acredita na santidade de Ven-
ceslau e que os vaticnios de Venceslau com relao a Henrique so to catas-
trficos quanto aqueles proferidos por Cassandra sobre a queda de Troia.
A tenso entre os dois grupos recentemente aumentou porque a Cmara de
Deputados destinou 50 mil cruzeiros a Porto do Santo; um deputado, Sr. Lins,
obteve esta dotao. Na eleio passada, quando Lins fazia campanha na ilha,
quando estava em Porto do Santo, ele prometeu, se fosse eleito, dar dinheiro
para a igreja, ao grupo de Alvinho, e uma capela para o Milagre, a Venceslau.
Venceslau afixou o retrato de campanha de Lins vista de todos, exortou as
pessoas a votarem para ele e fez oraes pessoais para que ele vencesse.
194
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 194 25/07/2013 09:08:51
renascido para a santidade
Lins acha que o dinheiro deve ser dividido entre a igreja e o Milagre, porm
Porto do Santo no tem uma pessoa legalmente habilitada a receber o dinhei-
ro para a comunidade e o Estado no transfere dinheiro pblico para insti-
tuies privadas. O dinheiro poderia ser transferido ao prefeito de Itaparica,
mas ele adversrio poltico de Lins e no simplificaria as coisas para ele de
nenhuma maneira. A soluo parece se encontrar na fundao de uma ir-
mandade que, tendo a fisionomia legal, poderia receber os cinquenta contos,
mas a irmandade excluiria Venceslau porque seria composta por seus inimi-
gos. Por outro lado, ele no pode criar sua prpria irmandade porque neces-
sria a autorizao das autoridades eclesisticas e ele se encontra totalmente
fora da simpatia destas. Neste nterim, Henrique j declarou que Venceslau
no deve construir nada em sua terra a menos que a compre, enquanto Bo-
neco j disse que Deus proibiu a compra mesmo que ele tivesse o dinheiro.
O ressentimento de Venceslau fica claro na declarao escrita abaixo que ele
me enviou: [...] as pessoas no sabem com quem elas esto falando. Elas
tentam me enganar, mas elas que devem ser enganadas. Muitas pessoas
vieram aqui me pedindo que lhes ajudasse na campanha para reeleger Get-
lio Vargas presidente para um novo mandato, como se ele vencesse eu vies-
se a me beneficiar. Tambm recebi a visita de pessoas que me pediram pra
ajudar Regis a tornar-se governador do estado. Eles deveriam ter ajudado o
Milagre, se obtiveram esta graa. At agora, nada.
Lins veio pessoalmente me pedir que o ajudasse a ser eleito deputado. Se
vencesse, disse, ele construiria uma capela para que So Venceslau ficasse
mais confortvel. At agora, nada.
Neste ponto incorporamos ao texto a carta colocada em p de pgina por
Castaldi, com vistas a situar mais claramente as queixas de Venceslau relatadas.
Castaldi inclui a carta com esta inteno, que considero de grande importncia,
por ser provavelmente um dos poucos, seno o nico, documento escrito pelo
Beato, uma vez que um provvel livro de mo no qual ele mantinha registros
sobre suas atividades nunca foi encontrado. Assim, Castaldi diz querer incluir
[...] o original da carta como exemplo do estilo epistolar de Boneco: Louvado
seja Nosso Senhor Jesus Cristo. A pomba do Divino Esprito Santo que vos
acompanhe, aonde vos tiver, irmo Carlos. O fim deste vos acompanhe, aonde
vos tiver, irmo Carlos. O fim deste para lhe explicar melhor o que o enga-
no deste povo do mundo, aqueles que no tm a f viva em nosso pai, a nossa
me Santssima. O caso este, eu nesta misso que estou cumprindo pela for-
a do Divino Esprito Santo, o povo no sabe com quem fala, querem enganar-
-me, mas enganados ficam eles. Aqui vieram diversas pessoas pedindo-me
195
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 195 25/07/2013 09:08:51
carlos caroso e carlo castaldi
para pedir para o Sr. Getlio Vargas ser novamente o presidente da Repblica,
dizendo que quando ele alcanasse a posse, eles viriam nos beneficiar aqui.
At hoje, nada. Tambm vieram pessoas pedindo-me para pedir para o Sr. Re-
gis ser governador do estado, dizendo que viriam melhorar o lugar dos Mila-
gres da Virgem, e at hoje nada chegou. Tambm o Dr. Lins veio em pessoa
me pedir e ouviu as minhas palavras. Se ganhasse o lugar de Deputado, vinha
levantar a capela nos Milagres da Virgem, dando todo conforto para o Santo
So Venceslau, e at hoje nada. O que surgem e o que os irmos j ouviram
dizer que querem dinheiro para fazer da igreja do Porto do Santo Corropio. No
mais, aceite a beno do irmo Jos de Luz do Corao de So Jos.
Por que estas pessoas esto contra mim, pergunta Boneco, quando todos
eles tiram lucro do Milagre?. Todos deveriam ser gratos: os padres pelas
missas que ele encomendou para os desvalidos, os mdicos a quem ele tem
mandado os que no podem ser curados pela gua, as farmcias onde eles
compram os remdios que os doutores receitam, as empresas areas que le-
vam as pessoas ao Milagre de lugares to distantes quanto So Paulo, e os
barcos e a Navegao Bahiana pela mesma razo.
Ele confidencia que seus inimigos locais e os padres se queixam dizendo que
ele leva o que deveria ir para a igreja, o que no verdade, pois as pessoas
vm a Porto do Santo por causa da gua e de So Venceslau. No a igreja ofi-
cial de Porto do Santo que atrai os visitantes, mas seu culto, e eles tm inveja
da fama que o local justamente desfruta. Venceslau continua dizendo que
todos conhecem a ganncia dos padres (que ele denomina filhos ingratos
de Deus), que cobram trezentos cruzeiros por uma missa e depois esperam
que lhes seja servido um grande caf, quando no um convite para almoo. O
padre A., que celebrou a primeira (e a ltima) missa no Milagre, cobrou du-
zentos cruzeiros. Depois da missa ele pediu mais dinheiro e um cavalo para
sua viagem de retorno. Quando Boneco o convidou novamente, ele disse que
no poderia ir. Ele provavelmente estava ocupado correndo atrs das garo-
tas que vo igreja, comenta Boneco.
Foi um erro do Padre A. celebrar uma missa no Milagre, mesmo consideran-
do que ao tempo Venceslau era um homem santo, sendo que ele ainda no
era um santo. Quando se deu a metamorfose, o bispo foi informado e man-
dou dizer a Boneco que ele deveria se confessar e procurar um trabalho ho-
nesto. Venceslau respondeu que no precisava se confessar porque ele falava
a palavra de Deus, e que no poderia deixar o local porque Nossa Senhora lhe
ordenara que permanecesse ali. A partir daquele momento as autoridades
eclesisticas passaram a ignor-lo.
A atitude de Boneco com relao Igreja ambgua; como Santo ele estimula
as pessoas a serem bons catlicos, apesar de caricaturar os padres como per-
sonagens perdulrios, a quem no apenas acusa de s se preocuparem com
196
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 196 25/07/2013 09:08:51
renascido para a santidade
dinheiro e sexo, mas tambm os identifica como pessoas que desdenham da
religio. Ele sabe de um que pessoalmente, e de propsito, matou um porco
na Sexta-Feira Santa. Se a Igreja viesse a tentar expuls-lo do Milagre, ele cer-
tamente seria defendido pelo tio de Avani, Saturnino, que sargento na Ma-
rinha do Brasil. Uma vez, quando tio Saturnino soube de um possvel ataque
ao Milagre, ele escreveu o seguinte bilhete:
Department of the Navy, Bureau of Navigation, USA. (este papel com cabea-
lho era do tempo em que a Marinha Americana esteve na Bahia). Tudo pelo
meu pas. Envie-me os nomes dos proprietrios e dos padres: eles sero de-
portados pela Marinha do Brasil, o chefe do Departamento, o Presidente da
Repblica e o Governador da Bahia. Informem-me imediatamente se vocs
precisam de um avio militar para defender a casa de Nossa Senhora do Am-
paro, desculpe-me pelos meus erros. Sempre seu, Saturnino.
Felizmente este movimento de tropas no foi necessrio, porque o ataque
nunca ocorreu. Talvez os inimigos de Venceslau tenham ficado amedronta-
dos com a ameaa de retaliao dinamitando a casa dos padres em Itaparica.
A maioria das pessoas em Porto do Santo parece satisfeita com a populari-
dade que a vila desfruta devido a Venceslau e seu poo. Esto muito impres-
sionados com a frugalidade e o isolamento em que ele vive, conquanto refle-
tindo mais cuidadosamente eles podero entender que a dieta no muito
diferente da sua prpria, e que seu isolamento relativo, pois da vila at o
poo so apenas dez minutos de caminhada.
Recentemente Boneco tem anunciado que est se aproximando o dia da sua
ascenso, espalhando-se um sentimento de grande expectativa em toda a
comunidade. Eles especulam a cada dia sobre a possibilidade de ainda o
verem na prxima manh. Pensam que vero, caso contrrio, por que ele te-
ria comprado um saveiro que, sob a proteo de Nossa Senhora, tem obtido
tanto lucro transportando romeiros de todos os locais do Recncavo para
o Milagre? Por que ele abriria uma venda para fornecer comida e velas aos
romeiros e aos moradores da vila?
Ser que Boneco, que atravs da santidade, readquirir um saveiro maior e
uma venda maior e abandonar esta vida?
Paixo, morte e lendas sobre o irmo Venceslau
Assumindo o papel quem recebeu um legado etnogrfico das mos de
seu autor, comeo por responder ltima pergunta deixada por Castaldi ao
finalizar seus escritos. Venceslau no abandonou a vida devocional como re-
sultado dos ganhos financeiros obtidos pelos negcios que manteve paralela-
197
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 197 25/07/2013 09:08:51
carlos caroso e carlo castaldi
mente sua prtica religiosa e teraputica. Consolidou-se como um dos mais
importantes praticantes em sade, num contexto em que concorria com pr-
ticas teraputicas fundamentadas em religiosidades afro-brasileiras (o Can-
dombl de So Joo) e com outro terapeuta que desenvolvia sua atividades na
localidade vizinha de Buraco do Boi, cuja prtica fundamentava-se tambm em
uma verso de culto afro-brasileiro, mas que tomara conhecimento de terapias
e frmacos da biomedicina dos quais fazia amplo uso e gradativamente se afas-
tava da prtica religiosa.
Revisitando os interlocutores de Castaldi em 2001, quarenta e sete anos
depois de sua partida, tomei conhecimento do destino que coube ao Irmo
Venceslau, que morreu aos sessenta anos, em 1961, apaixonado, numa ver-
so que segue a linha de discurso estabelecida por um prestigioso residente de
Porto dos Santos e seu contemporneo, que a consolida em um artigo intitu-
lado Irmo Venceslau de Porto do Santo, que escreveu para o jornal A Tarde, de
Salvador, em 1981.
Castaldi deixa algumas questes em seu trabalho que ainda no consegui
responder, nem creio que venha a ter respostas. No segundo encontro pessoal
que tivermos, ele passou-me seu manuscrito com o apelo de que fosse feito al-
gum uso acadmico do mesmo. Parcialmente respondi algumas das suas per-
guntas ao enviar-lhe entrevistas transcritas, um texto produzido por Alvinho,
um dos descrentes em So Venceslau, e que poca fazia forte oposio a este,
e fotografias de pessoas que eram muito caras para suas lembranas da ilha de
Itaparica. Sua desejada vinda Bahia para revisitar o campo nunca se concre-
tizou, tendo ele morrido pouco antes da ltima data que tnhamos planejado
para que isto acontecesse.
So Venceslau morreu apaixonado em 1961, vinte dias aps ser expulso
do Milagre pelo novo proprietrio das terras onde esse ficava. Esta a verso
romntica dada por um mesmo residente de Porto dos Santos, que poca de
Castaldi liderava a oposio ao Santo, que hoje tenta restabelecer o destaque
que Porto dos Santos outrora ocupou atravs da valorizao de seu outrora ri-
val. Contudo, esta parece ser uma verso apenas parcial sobre a morte do Santo,
que se ajusta s muitas lendas construdas em torno de sua existncia.
Venceslau reforou entre seus seguidores a ideia de santidade atravs de
vrios recursos retricos e cnicos, promovendo encenaes dramticas, entre
198
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 198 25/07/2013 09:08:51
renascido para a santidade
estas, elaborando para si um percurso que em muito se assemelha ao de Jesus
Cristo e de outras pessoas santificadas, ao criar grande expectativa com relao
sua ascenso ao cu. Sua morte fsica aparentemente se deu cerca de dois anos
aps ser expulso do Milagre por especuladores imobilirios que adquiriram a
terra do seu antigo proprietrio. Contudo, a morte do Santo reconhecida no
como a de algum que passa novamente pelo desamparo de ficar vagando em
busca de um local para residir durante aproximadamente dois anos, mas, glo-
riosamente apaixonado, em retiro na igreja de Nosso Senhor do Bom Despacho,6
na localidade que tem este nome na ilha de Itaparica, por no tocar mais em
comida nem bebida nos vinte dias seguintes sua expulso do Milagre.
O Milagre tornou-se terra pblica, sob forma de rea de proteo ambien-
tal, na qual foi construdo um memorial a Venceslau Monteiro. Atualmente
constitui um espao sagrado para o qual convergem praticantes de vrios cre-
dos para realizar suas cerimnias e rituais variados (grupos esotricos, mem-
bros da Eubiose, catlicos, espritas, umbandistas, candomblecistas e, mais
recentemente, adeptos do xamanismo urbano), sendo o irmo Venceslau cul-
tuado por vrios desses e as guas da fonte usadas em rituais de iniciao reli-
giosa por suas reconhecidas qualidades milagrosas. Seu nome foi atribudo
unidade pblica de sade de Porto dos Santos, por demanda de seus morado-
res, que foram consultados pela administrao do municpio.
Romarias e mitificao do eremita de Porto dos Santos
As prticas teraputicas religiosas iniciadas por Venceslau em pouco tempo
chamaram a ateno de moradores da ilha de Itaparica e de cidades e vilas in-
sulares e costeiras da Baa de Todos os Santos, vindo posteriormente a atrair
romeiros de lugares distantes e fluxos peregrinatrios que se expandiram com
o passar do tempo, caracterizando o que definido por Turner (1974) como pe-
quena peregrinao.
6 Por suas caractersticas, a igreja data do sculo XVII, mas a 1 referncia a esta na Relao do Padre Cristovo
Santos, em 1757, estando transcrita no livro de Ubaldo Osrio. Localizava-se na rea da Fazenda Bom Despa-
cho, transformada em lazareto no sculo XIX. Passou por reforma com acrscimos na 1 metade do sculo XX.
As lpides mais antigas eainda existentesso de 1872 e 1892.
199
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 199 25/07/2013 09:08:52
carlos caroso e carlo castaldi
Utilizo aqui este conceito de pequena peregrinao para entender a dimen-
so que veio a tomar este fenmeno naquele momento presenciado por Cas-
taldi, que contrasta com a frequente tendncia na literatura antropolgica de
s se considerar grandes movimentos peregrinatrios.7 Assim que a prtica
religiosa fundada por Venceslau no Poo do Milagre , para ele, a prpria ga-
rantia da continuidade da graa alcanada, que exige dele doao (colocar-se a
servio dos outros operando curas milagrosas), renncia (da vida normal para
as outras pessoas) e aprisionamento (no poder se afastar do Milagre sob pena
de voltar a adoecer).
Como visto na etnografia produzida por Castaldi, a observncia destas
regras desencadeavam efeitos controversos e reforavam a posio que Venc-
eslau passara a ocupar tanto no contexto local quanto supralocal. Ao colocar-
se a servio dos outros, Venceslau acumulou prestgio e poder, tornou-se Santo,
deixando de ser o Boneco e tornando-se So Venceslau. Sua renncia vida
normal no o privava de desenvolver atividades comerciais, auferindo ganhos
com a peregrinao, a ponto de poder financiar seu cunhado para ser juiz da
festa da Santa Padroeira de 1949 e mudar o percurso da procisso de maneira a
incluir a passagem pelo Poo do Milagre; adquiriu grande poder poltico, atu-
ando como cabo eleitoral, a ponto de reclamar que ajudou a eleger deputados,
o governador do Estado e mesmo reeleger Vargas presidente da Repblica, e,
admoestado pelo Bispo Primaz do Brasil sobre suas prticas, ele ignorou a
reclamao episcopal e deu curso a estas, sem as quais seu poder estaria se-
riamente ameaado, podendo significar o fim de sua devoo. Seu aprision-
amento ao Milagre, ao ponto de tornar-se uma lenda denominada o Eremita
de Porto do Santo, relativo, como pondera Castaldi: o Milagre encontra-se
apenas a vinte minutos de caminhada at Porto dos Santos, ao mesmo tempo,
toda a movimentao do local se transferiu para l, sendo regulada pela pro-
gramao feita por Venceslau; mesmo proibido de ler e informar-se sobre os
acontecimentos do mundo contemporneo, ele continuou se mantendo bas-
7 Segundo Turner (1975), estes fenmenos de peregrinao podem objetivamente constituir uma rede conecta-
da de processos, cada um envolvendo uma jornada para e de um local particular. As peregrinaes so reali-
zadas em lugares nos quais ocorre alguma manifestao de poder divino ou supranatural, que Eliade (1992, p.
19) denomina de teofania. A manifestao da teofania pode se dar de vrias formas em diferentes religies e
diferentes partes do mundo.
200
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 200 25/07/2013 09:08:52
renascido para a santidade
tante conhecedor do mundo exterior ilha e de seu reduto espiritual, a exem-
plo de estar informado sobre a existncia da televiso em incios da dcada
de 1950, quando esta era recm-chegada ao pas, falando metaforicamente de
suas vises como se ocorressem numa televiso espiritual.
Referncias
BRUNER, Edward. Ethnography as Narrative. In: TURNER, V. W.; BRUNER, E. (Org.). The
Anthropology of Experience. Urbana & Chicago: The University of Chicago Press, 1986.
CASTALDI, Carlo. O Boneco. In: _________. Religious figures and cults in the Recncavo,
Bahia, Brazil. New York: Columbia University, Draft PhD. Dissertation, 1955.
(datilografada).
CARNEIRO, Edison. Candombls da Bahia, Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira, 1948.
Caroso, Carlos; Rodrigues, N. ; Almeida-Filho, N. Apoio familiar e experincia
de pessoas com problemas mentais. Horizontes Antropolgicos. Porto Alegre: PPGAS,
UFRGS, n. 9, 1998.
CAROSO, Carlos; Rodrigues, N.; Almeida Filho, Naomar; Bibeau, Gilles; Corin, Ellen.
When healing is prevention: afro-brazilian religious practices related to mental disorders
and associated stigma in Bahia, Brazil. CURARE. Berlin: WWB, v. 12, p. 195-214, 1977.
CLEMENT, Catherine; KAKAR, Sudir. A Louca e o Santo. Rio de Janeiro: Relume-
Dumar, 1997.
CRAPANZANO, Vincent. The Hamadsha: a study in Moroccan ethnopsychiatry.
Berkeley & Los Angeles: University of California Press, 1973.
CRAPANZANO, Vincent. Tuhami: portrait of a Moroccan. Chicago & London:
University of Chicago Press,1980.
DOW, James. The Shamans touch: otom indian symbolic healing. Salt Lake City:
University of Utah Press, 1986.
DUARTE, Luiz Fernando Dias. Pessoa e dor no Ocidente (o holismo metodolgico na
Antropologia da Sade e da Doena). Trabalho apresentado na Mesa Redonda da XX
Reunio Brasileira de Antropologia. Salvador, 16p. 1996. (mimeo)
DREYFUS, H.; RABINOW, P. Michel Foucault: uma trajetria filosfica para alm do
estruturalismo e da hermenutica. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 1995.
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. So Paulo: Martins Fontes, 1992.
FOUCAULT, M. O sujeito e o poder. In: DREYFUS, H.; RABINOW, P. Michel Foucault.
Uma trajetria filosfica: para alm do estruturalismo e da hermenutica. Rio de
Janeiro: Forense Universitria, 1995. p. 231-249.
GEERTZ, Clifford. Making experiences, authoring selves. In: TURNER, V. W.; BRUNER,
E. (Ed.). The anthropology of experience. Urbana: University of Illinois Press, 1986.
201
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 201 25/07/2013 09:08:52
carlos caroso e carlo castaldi
GENNEP, Arnold Van. Os ritos de passagem. Petrpolis, Editora Vozes, 2011.
HARWOOD, Frances. Myth, memory and the oral tradition: Cicero in the Trobriands.
American Anthropologist, v. 78 p. 783-796, 1976.
JANZEN, J.M. The quest for therapy in Lower Zaire. Berkeley: University of California
Press, 1978.
KLEINMAN, A. Patients and healers in the context of culture: an exploration of the
borderland between anthropology, medicine and psychiatry. Berkeley and Los
Angeles: University of California Press, 1980.
KLEINMAN, Arthur. The illness narratives: suffering, healing & the human condition.
USA: Basic Books, 1988a.
LVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1974.
LVI-STRAUSS, Claude. Minhas palavras. So Paulo: Brasiliense, 1986.
MAUS, Raymundo Heraldo. A ilha encantada: medicina e xamanismo numa
comunidade de pescadores. Belm: NAEA/UFPA, 1990.
MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a Ddiva. In: _________. Sociologia e Antropologia, v. 2; So
Paulo: EDUSP, 1974.
NEIHARDT, John. Black elk speaks: being the life story of a holy man of the oglala
sioux. Lincoln: University of Nebaska Press, 1961.
RADIN, Paul. The Autobiography of a Winnebago Indian: life, ways, acculturation, and
peyote cult. New York: Dover Publications, 1963.
RODRIGUES, N. ; CAROSO, C. A sina de curar: a palavra de um terapeuta religioso.
Horizontes Antropolgicos. Porto Alegre, v. 5, n. 12, dez. 1999.
RODRIGUES, N. ; CAROSO, C. A idia de sofrimento e a representao da doena
na construo da pessoa. In: Duarte, Luiz Fernando D.; LEAL, Ondina F. Doena,
sofrimento, perturbao: perspectivas etnogrficas. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1988.
SCHEFF, T.J. Catharsis in healing, ritual, and drama. UC Press, 1979.
TAUSSIG, Michel. Xamanismo, colonialismo e o homem selvagem: um estudo sobre o
terror e a cura. So Paulo: Paz e Terra, 1993.
TURNER, Victor. Revelation and divination in Ndembu ritual. Ithaca: Cornell University
Press, 1975.
TURNER, Victor. Dramas, fields and methaphors: symbolic action in human societies.
Ithaca and London: Cornell university Press, 1975.
TURNER, Victor. Dramas, campos e metforas: ao simblica na sociedade humana.
Niteri: EdUFF, 2008.
YOUNG, J.C. Medical choice in a mexican village. New Jersey: Rutgers, 1981.
WOLF, Eric R. Peasants. Englewood Cliffs: Prentice, 1966.
202
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 202 25/07/2013 09:08:52
As ojerizas do Povo-de-santo
A eficcia das quizilas
Francesca Bassi 1
No contexto ritual do Candombl Nag da Bahia, restries comportamentais
(alimentares, cromticas, situacionais, etc.), chamadas ewo e, mais frequente-
mente, quizilas,2 acompanham os iniciados no cotidiano. (Binon Cossard
, 1970; 1981) As quizilas, tratadas na literatura como tabus (Augras, 1987), se-
guem tanto orientaes simblicas convencionais quanto expresses indivi-
dualizantes. No presente artigo, proponho um estudo do papel diferenciador
de interdies a partir da considerao de que muitas quizilas decorrem, no
Candombl, da insero do adepto nas diversas regncias dos orixs e dos odu
os signos do destino. A maneira encarnada da insero de cada filho-de-santo
nessas regncias implica, como veremos, numa habilidosa ateno em consi-
derar os acontecimentos biogrficos como se fossem consequncias essenciais
destes pertencimentos.
Efetivamente, muitas quizilas se formalizam somente a partir do plano
acidental, como atesta a prtica do novato (yawo), treinado pelos mais antigos
a encontr-las, questionando se casos concretos, tais como alergias ou intole-
rncias alimentares, so consequncias de quizilas at ento desconhecidas. O
perodo do noviciado3 crucial, pois uma nova identidade vai se desvendan-
do, junto com as incompatibilidades especficas, isto , quizilas, que fazem do
1 O presente trabalho foi realizado com o apoio da CAPES. francesca_xango@yahoo.com. Reviso do texto de
Marcos da Costa Martins.
2 Quizila: (var. de quijila, quimb. kijil, preceito, mandamento, regra) S.f. 1. Repugnncia, antipatia. 2. Aborre-
cimento, impacincia, chateao. 3. Desavena, zanga, inimizade, desinteligncia. 4. Rixa, briga, pendncia
(var. quizlia). Quizilar: v. t.d. 1. Fazer quizila a; importunar, aborrecer, zangar. Int. e p. 2. Incomodar-se, abor-
recer-se, irritar-se, zangar-se (f. paral.: enquizilar). Quizilento: adj. 1. Que faz quizila. 2. Propenso a quizilar-se.
(FERREIRA, 1999, p. 1439)
3 O perodo do noviciado prev uma permanncia do novato no terreiro que dura mais ou menos trs meses;
depois de trs anos, uma obrigao marca uma primeira confirmao do novato; com sete anos, conclui-se
esta etapa e o filho-de-santo deixa de ser yawo e vira ebome.
203
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 203 25/07/2013 09:08:52
francesca bassi
novato um ser nico, dinamicamente conexo com um conjunto de divindades
(orixs) e com os signos do destino (odu).4
Segundo critrios lato sensu divinatrios,5 acidentes revelam normas ne-
gativas dependentes de casos idiossincrticos, isto , de incompatibilidades
pessoais. Neste artigo argumenta-se que, em muitos casos, a lgica das qui-
zilas se afasta da noo clssica de tabu que lhe foi associada (Augras, 1987)
ou, mais em geral, da ideia de interdio como norma negativa, coletivamente
compartilhada e representada, para desvendar e expressar uma relao parti-
cular entre o filho-de-santo e as entidades do culto. As quizilas, que no se dei-
xam encaixar nas restries gerais decorrentes de representaes mticas dos
orixs, lembram a construo simblica da pessoa no Candombl para alm
da lgica metafrica de tipo totmico, como o apontou Mrcio Goldman (1987).
Pureza e Sensibilidade
Na literatura antropolgica os tabus foram tratados enquanto dispositivos sim-
blicos de proteo contra a impureza ao longo de certas etapas ambguas e
indefinidas da vida social, ritual e da existncia pessoal.6 (Douglas, 1971) Em
geral, segundo Douglas, a ideia de contaminao relativa s transgresses
de comportamentos rituais aptos a manter separaes nos elementos de uma
dada classificao. A antroploga aponta para o fato de que o perigo de conta-
minao surge da necessidade cognitiva de ordem, apoiando-se na sensao
de repulsa mistura, estendendo-se como justificativa contra a desordem sim-
blica referente ao corpo fsico e ao corpo social. As fronteiras do grupo, assim
como os papis sociais, so protegidas com normas de pureza corporal (em
4 Os odu so os orculos do sistema divinatrio iorub chamado If. No Candombl praticada uma variante
conhecida como jogo de bzios: as configuraes dos bzios despejados na mesa correspondem a um dos
dezesseis odu, isto , a um conjunto de mitos (its), que devem ser analisados para escolher aquele cuja histria,
por analogia, a mais apta a dar uma resposta questo da consulta. Os mitos so analisados, portanto, segun-
do categorias de eventos (sade, condio financeira, relaes familiares e amorosas, consecuo de metas e
de emprego). Sobre o sistema divinatrio, ver Bastide (1981).
5 As quizilas pessoais podem ser descobertas atravs do jogo de bzios, mas tambm segundo critrios divina-
trios secundrios que levam em conta regras de confirmao. (ZEMPLNI, 1995) No Candombl, por exemplo,
se um alimento fizer mal, por trs vezes, torna-se quizila.
6 A literatura clssica sobre o tabu vasta e a noo parece fundar a disciplina antropolgica, pois ela participa
dos debates sobre religio, sobre magia, sobre parentesco, etc.(FRAZER, 1888; HERTZ, 1922; RADCLIFFE-BRO-
WN, 1939; WEBSTER, 1952; STEINER, 1980; DOUGLAS, 1971; SMITH, 1979).
204
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 204 25/07/2013 09:08:52
as ojerizas do povo-de-santo
particular relacionadas s comidas e s trocas sexuais), cujas infraes provo-
cariam uma mistura considerada perigosa. Define-se, assim, uma abordagem
dos comportamentos proibidos segundo uma classificao coletiva e uma or-
dem social e simblica.
Criticando Douglas, Luc de Heusch (1971) argumenta que somente em de-
terminados casos o sistema de tabus e a noo de contaminao esto inti-
mamente relacionados, notadamente na ideologia indiana das castas, assim
como a metfora da sujeira subjacente se limitaria a evocar a experincia uni-
versal da perda (decomposio dos corpos, excrees corporais). Assim fazen-
do, Douglas deixa, segundo de Heusch, inexplorado um segundo tipo de tabu,
que no seria ligado s metforas da sujeira e que teria como vocao a disjun-
o de certos termos para marcar diferenas relativas.7
Voltando a considerar as interdies no Candombl, deve-se ponderar que,
se por um lado, as quizilas se apresentam como injunes para respeitar as
separaes entre as caractersticas dos diferentes orixs ou odu, por outro, elas
desdobram-se em quizilas da pessoa, segundo uma estrutura aberta, pois todo
acidente, desencontro, alergia ou desgosto, toda sensibilidade negativa, pode
se acrescentar a uma lista pessoal de quizilas. O que traz tona a definio des-
sas interdies a partir de uma eficcia negativa cujo carter idiossincrtico e
leva, portanto, a apreciar a singularidade do iniciado.
Devemos a Pierre Smith uma definio da eficcia dos interditos a partir
da ideia de sensibilidades simblicas especficas. Encontrando na frica Ban-
to (Ruanda) vrios interditos chamados de imiziro, Smith argumenta que eles
no apelam noo de contaminao pela sujeira, pois as aes proibidas no
se encaixam na ideia de um contgio ruim. O perigo inerente aos imiziro se
explica, segundo este autor, como a consequncia de um encontro indesejvel
entre termos semelhantes, mas opostos. Estas interdies marcam os gestos
cotidianos, os mais variados e andinos, relativos a diferentes contextos da
ao. O resultado indesejado de um descuido, em vez de comportar um estado
7 Luc de Heusch, no prefcio da edio francesa do livro de Douglas (1971, p. 7-20), critica a pertinncia do con-
ceito de contaminao e, portanto, aquele de sujeira, em vrios sistemas de interdies na frica. Ele indica
que vrios interditos religiosos, notadamente entre os Lele e os Nuer, no esto associados impureza. Entre
os Lele, exemplifica de Heusch (1971, p. 13. traduo nossa), o sistema hama (sujeira) e o sistema de interdies
no apresentam uma ligao. Confira tambm Heusch (1990).
205
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 205 25/07/2013 09:08:52
francesca bassi
de impureza, aproxima-se, enquanto forma de reao devida aproximao de
termos incompatveis, das ideias de sensibilidade negativa e de alergia.
A teoria dos interditos ganha com Smith uma variedade de contextos de
ao. Referindo-se aos imiziro, Smith ilustra vrios casos de atos cotidianos do
ruands que devem ser mantidos separados, pois a aproximao evocaria as-
sociaes simblicas indesejadas.8 O sistema dos interditos se desvela, assim,
nos atos, segundo uma preciso que poderia ser dita rabnica e que evoca a
etiologia das alergias. (Smith, 1979, p. 16) Smith refora seu argumento, in-
dicando que a definio da eficcia negativa das interdies, a partir da noo
de sensibilidade, expressa bem a natureza dos imiziro, pois em Ruanda vrias
erupes cutneas so consideradas como ndices e sintomas de uma violao,
muitas vezes involuntria, de um imiziro. Parece, assim, abrir-se um frtil ca-
minho de pesquisa a partir das questes de sensibilidade corporal que no fo-
ram exploradas nos trabalhos sobre concepes dos efeitos dos interditos. No
Candombl muitos eventos negativos so justificados como consequncias de
quizilas e dizem respeito s particularidades de cada um. O corpo, com suas
sensibilidades, promove-se como o local da experincia de um relacionamen-
to com objetos, elementos e substncias mediadoras dos orixs (LACOURSE,
1991) e de outras entidades (odus) que estruturam as singularidades dos nova-
tos. Elas precipitam filhos-de-santo diferenciados no momento em que pre-
cipitam sensibilidades.
A origem da quizila: rompendo classificaes
No Candombl, interditos profilticos correspondem necessidade de manter
estados de pureza temporria, em certas condies de fragilidade, marcadas
por mudanas existenciais ou rituais e por uma conseguinte indefinio sim-
blica. A yawo, como a mulher grvida ou no ps-parto, considerada um ser
8 Tirar o leite das vacas, por exemplo, fumando cachimbo, considerado inapropriado, sendo a consumao do
tabaco uma evocao contrria abundncia esperada do leite. Mas, em geral, evitada a conjuno entre o
leite, de um lado, e o orvalho (lquido magro e fugaz), assim como, de outro, a fumaa de tabaco: a associao
do leite abundncia seria incompatvel com a evanescncia do orvalho e a diminuio do tabaco (SMITH,
1991, p. 383). Smith (1979, p.16) explica: proibido fumar o cachimbo no momento da ordenha das vacas, de
tocar em cachimbo, quando ainda existem traos de leite nas mos, mas pode-se fumar cuidando das vacas
(neste ltimo caso, diferentemente dos outros, a ligao direta com o leite no est presente).
206
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 206 25/07/2013 09:08:52
as ojerizas do povo-de-santo
vulnervel, que deve respeitar um resguardo para proteger-se da contamina-
o pela sujeira, isto , pelas energias negativas. A yawo respeita, tempora-
riamente, um confinamento no espao do terreiro, um regime de castidade;
no compartilha sua esteira ou cama nem seus recipientes e louas, pois o
contato com outrem pode dar origem a um estado de impureza. (Binon, 1970;
1981) Para alm dos interditos profilticos, que remetem ideia de contamina-
o e categoria de exorcismo, j que as separaes dos corpos permitem se
defender de encostos de energias negativas (as energias dinamizadas por Exu,
ou as almas dos mortos, chamadas Eguns, encostadas nas pessoas, por exem-
plo), encontram-se os interditos relativos ao culto dos orixs.
Augras, num trabalho dedicado s quizilas e aos preceitos em terreiros de
nao Nag e Jeje nos Candombls do Grande Rio, descreve vrios tipos de qui-
zilas, que podem ser resumidas nas seguintes categorias: i) as quizilas que evi-
tam a autofagia simblica por meio da abstinncia de alimentos que derivam
do mesmo elemento do orix principal (dono da cabea) e que podem fazer
parte das suas oferendas; ii) as quizilas ligadas s idiossincrasias do dono da
cabea de cada iniciado; iii) as quizilas que se motivam das diversas idiossin-
crasias dos adeptos. (AUGRAS, 1987, p. 61,54,68)
A autora (1987, p. 71-74) considera a dificuldade de formatar uma lista com-
pleta de interditos, apontando para a variao das interpretaes sobre a ori-
gem simblica das quizilas oferecidas pelos interlocutores; ela observa, tam-
bm, que certas quizilas so explicadas pela importncia que determinada
substncia teve na histria mtica (AUGRAS, 1987, p. 72), deixando aberta uma
possvel explicao da variedade de tipos de quizilas. Interessada em compre-
ender porque as interdies so respeitadas de modo flexvel, sendo a trans-
gresso um comportamento por ela observado, Augras (1987, p. 56) argumenta
que, alm do fato de que a aprendizagem ritual se faz atravs do erro, os atos
de insubmisso s regras tornam dinmico o campo do sagrado, obrigando a
efetuar novas oferendas expiatrias. O nico aspecto unitrio da quizila pare-
ce, portanto, ligado questo da prtica da transgresso e do perigo associado.
Assim, vale questionar os perigos da violao, isto , a eficcia negativa da
quizila. Deixando o tpico da violao para a ltima parte deste artigo, tentarei
oferecer algumas consideraes capazes de tratar das incoerncias simblicas
das quizilas observadas por esta autora, a partir da minha prpria pesquisa de
207
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 207 25/07/2013 09:08:52
francesca bassi
campo9 e da reviso da teoria do interdito. Logo, cabe ressaltar que a chamada
autofagia simblica indica, segundo Augras, a identidade consubstancial do
iniciado com o seu santo.10 A teoria antropolgica oferece hoje um quadro te-
rico que permite pensar a chamada autofagia nos termos de um perigo mais
amplo de excesso que pode ser produtivamente abordado, analisando as ideias
sobre a troca de fluidos e de substncias entre o idntico e o diferente.11 O peri-
go de um acmulo do mesmo elemento contrrio a essa procura de equilbrio
que se desenvolve na prtica ritual da iniciao.12 Consequentemente, uma cer-
ta excluso de contiguidade com o idntico (o orix dono da cabea do ini-
ciado, notadamente) necessria. Estas quizilas so mais prximas da ideia de
uma intolerncia por excesso do que das noes de antipatia, ojeriza, alergia,
implcitas no timo quizila.13 Essa mesma intolerncia determina a natureza
humana: filho no orix, diz a me-de-santo Stella de Oxssi, aludindo ao
fato de que ele deve levar uma vida dentro dos limites desta sua natureza, dei-
xando ao orix invadi-lo em momentos pontuais: o tempo da possesso.
9 Pesquisa de campo para o Doutorado efetuado na Bahia, em terreiros de Candombl Nag (Keto e Ijex).
10 De fato, a iniciao proporciona, atravs da aplicao de ps, de ervas maceradas e de sangue dos animais nos
poros ou nas incises praticadas, a conjuno equilibrada dos elementos de origem animal, vegetal e mineral,
atribudos aos diversos domnios dos orixs, no corpo do adepto. (SANTOS, 1975)
11 Trata-se da teoria de Franoise Hritier (1994) sobre o incesto de segundo tipo, que preconiza a importncia de
no encontrar a mesma substncia nas trocas sexuais. Como descreve a autora, numa pesquisa comparativa,
um homem no pode ter relaes sexuais com duas mulheres unidas pela mesma matriz, duas irms ou a me
e a filha, por exemplo, pois provocaria uma contiguidade de substncias e de fluidos idnticos, fazendo entrar,
indiretamente, as duas mulheres em uma relao incestuosa.
12 Lembramos que, embora a consubstancialidade com o orix seja procurada com a iniciao, na busca de
um equilbrio entre o idntico e o diferente que se desenvolve a prtica ritual. No Candombl, o acmulo
perigoso no somente relativo s comidas, portanto o autocanibalismo (comer da mesma substncia) no
suficiente para explicar outras proibies semelhantes, ligadas, por exemplo, prtica do uso das cores, cujo
papel relevante no ritual ligado aos orixs e aos odus. (BENISTE, 1999) Como me foi sugerido por Me Stella de
Oxssi, as filhas de Ians, orix quente e agitado (segundo o princpio gun), associado ao fogo e ao vermelho,
no podem adotar um vesturio com excesso desta cor. A estes simples atos cotidianos ligados s comidas e
aos cromatismos somam-se rituais mais complexos, que tentam compensar, por exemplo, na cabea de uma
pessoa iniciada, dois orixs demasiadamente quentes (gun), inserindo entre eles, e trabalhando ritualmente,
um orix frio (ero), ligado calma. (Conforme depoimento de Nancy de Oxal)
13 A lgica da quizila que evita o acmulo do mesmo foi-me explicada pelo pai-de-santo Ruy Povoas do Carmo,
quando, argumentando que muitas quizilas devem ser respeitadas para no criar um excesso da prpria
matriz ancestral no corpo do adepto, lembrou-me o mito de Ajal, o oleiro que, no Orum (a dimenso celeste
e divina, contraposta ao Ay, a dimenso terrestre e humana), fabrica as cabeas das pessoas introduzindo
variados elementos do mundo. O mito indicaria que cada um consubstancial a certos elementos do mundo
e sensvel a estes mesmos elementos por excesso ou por falta. O fato de que diferentes tipos de interditos
podem se encontrar numa nica designao, sem por isso constituir uma nica problemtica, j foi constado
pelo antroplogo britnico Franz Steiner (1980) quando observou a convergncia de proibies heterclitas
na mesma denominao (tapu ou tabu), na rea cultural polinsia.
208
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 208 25/07/2013 09:08:52
as ojerizas do povo-de-santo
Neste nvel, vrios interditos, de maneira especial, as quizilas alimentares,
parecem derivar de um sistema de classificao que permite associar os orixs
aos diferentes mbitos da natureza. (Goldman, 1987, p. 98) Oposies podem
ser veiculadas por meio de abstinncias alimentares dos filhos-de-santo, resul-
tantes das homlogas oposies entre domnios dos orixs. Segundo esta lgi-
ca, os filhos das guas (filhos de Iemanj e Oxum) evitam comer certos crus-
tceos ou peixes, os filhos de Nan evitam caranguejo, pois a lama o elemento
dela casos estes semelhantes aos citados por Augras (1987, p. 61). Um disposi-
tivo simblico de tipo naturalstico pode tambm ser ativado, associando ele-
mentos naturais aos atributos dos orixs, assim como vrios outros interditos,
e que decorrem das representaes deles: o abacaxi, por exemplo, enquanto
fruto rugoso, quizila de Omolu, pois representa as pragas do corpo deste ori-
x da varola; os animais que rastejam no podem ser consumidos pelos filhos
de Oxumar, orix cobra, etc.
Quando se analisam as histrias mticas, alm das referncias aos domnios
naturais dos orixs, so levados em conta os eventos que evocam poderes es-
peciais no encontro primordial do orix com os elementos do mundo. O pai-
-de-santo Genivaldo interpreta assim a quizila dos crustceos que se impe aos
filhos de Omolu, orix da varola, ligado terra:
Um dia Iemanj encontrou o pequeno Omolu abandonado pela me Nan e o
levou junto com ela no mar para aliment-lo. Mas Omolu no podia ficar no mar,
aquele no era o seu elemento: a terra era o seu elemento, mas no mar ele no ia
sobreviver, ele ia afundar. Ento os crustceos formaram uma plataforma para
ele poder andar tambm no mar. Os filhos de Omolu no devem comer crustceos,
no devem comer o que Omolu pisou com o seus ps.
Este relato descreve agenciamentos especficos entre o orix e os elemen-
tos do mundo e acontecimentos milagrosos que indicam a sua fora, para
alm das representaes de atributos que remetem s homologias naturalsti-
cas sistemticas. Segundo este interlocutor, os filhos de Omolu compartilham
com os filhos de Iemanj a quizila dos crustceos, mas por razes diferentes,
explorando a ambiguidade classificatria desses animais marinhos que, dife-
rentemente dos peixes, andam no fundo no mar, fundamentando a ideia de
que eles constituem (por sindoque) a terra de Omolu, assim como a sua for-
a de sobreviver no mar, elemento a ele estranho.
209
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 209 25/07/2013 09:08:52
francesca bassi
Cabe ento colocar uma primeira considerao sobre o simbolismo das
quizilas: ele imprevisvel do ponto de vista classificatrio pois foge de pre-
vises sistemticas. As glosas de muitas quizilas seguem diferentes percursos
simblicos, deixando alta a possibilidade de variaes, assim como uma apa-
rente incoerncia. Sobretudo, vale enfatizar que muitos filhos-de-santo, nota-
damente os recm-iniciados, no sabem lidar com interpretaes deste tipo e
que quizilas so por eles respeitadas pelo simples fato de serem transmitidas
pelos mais antigos, sem que possam oferecer conhecimentos mais especficos,
o que decepciona o analista que procura sistemas consequentes de explicao.
A ausncia de um verdadeiro sistema no pensamento simblico foi argumen-
to de Lvy-Bruhl (1938) que, como indica Todorov (2008), definia como elusivas
as explicaes nativas sobre a origem dos smbolos. De fato, devem-se levar em
conta relaes de equivalncia, encontros de sequncias simblicas diferentes:
Um simbolizante evoca diferentes simbolizados no por falta de sistema,
mas porque um simbolizado pode, por sua vez, se converter em simbolizan-
te. Lvy-Brhul cita o seguinte exemplo: uma folha de uma rvore simboliza
o vestgio que foi deixado nela (por metonmia), ela evoca o homem que a
pisou (uma vez mais por metonmia); este homem simboliza a tribo qual
pertence (por sindoque). (Todorov, 2008 p. 308, traduo nossa)
Quando se consideram as histrias dos orixs, as associaes de tipo na-
turalstico do lugar a antropomorfismos, as essncias se humanizam e a sim-
bolizao dos orixs direcionada pelos inmeros eventos mticos. Multipli-
cam-se verses de como acontecimentos gloriosos demonstram a fora deles
e, tambm, como eventos ruins os afetaram negativamente. As quizilas podem,
portanto, representar elementos a serem respeitados por evocar poderes espe-
ciais dos orixs em momentos de aperto, como no caso do mencionado mito
de Omolu andando no mar. Mas, o que considerado mais tpico da quizila
pelos interlocutores uma relao pessoal negativa, idiossincrtica, que o
orix, no seu lado mais humano e emocional, entretm com elementos que
evocam a sua fraqueza. Tudo se passa como se afetos negativos, traumticos,
dos orixs antropomrficos se fixassem, se localizassem nos elementos ou si-
tuaes ligadas a esses acontecimentos, que viraram smbolos de antipatias,
de repdios. Como diz o povo-de-santo, os orixs pegaram a quizila desses
210
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 210 25/07/2013 09:08:52
as ojerizas do povo-de-santo
elementos; a evocao geral de um acontecimento ruim que explica a quizila:
As coisas viram quizila quando esto ligadas a algo que foi mal. (Detinha de
Xang)14 Um depoimento do pai-de-santo Genivaldo descreve ardilosos acon-
tecimentos que fizeram com que Ians pegasse a quizila de carneiro:
Ians, chamada tambm Oy, teve nove filhos. Quando ela estava grvida de seu
filho caula ela soube que ele era abiku, quer dizer, nascido para morrer, isto
, destinado a morrer pequenininho. Oy foi ver If (orix da adivinhao) e If
mandou ela fazer um eb (oferenda) no caminho do nove. Ela tinha que ofere-
cer nove oferendas de comida, assim ela dava a energia ao caminho (signo do
destino, odu) e receberia em troca a energia de outra forma. Era uma oferenda
(eb) para no deixar ir embora o filho que ela ia parir. Infelizmente, um carneiro
comeu a oferenda que ela tinha arriado e o filhinho dela morreu logo depois de
nascer. Um filho-de-santo cabea de Ians como aquele ligado ao odu Oss, um
odu relacionado com o caminho de Ians, no deve comer carne de carneiro. (Ge-
nivaldo de Omolu)
Vale ressaltar que o foco da quizila no , nestes casos, colocado nas pro-
priedades intrnsecas do elemento (o carneiro) rejeitado, em analogia com o
domnio natural do orix, mas unicamente na sua associao com um acon-
tecimento indesejvel. Reencontramos de uma certa forma dois elementos da
citada teoria do interdito de Smith: a evocao de um desencontro que o ele-
mento quizilado proporciona e a formao de interditos a partir de antipatias
relativas, em contraste com a ideia de uma normativa absoluta implcita nas
definies clssicas do tabu.
A grande antipatia de Ians pelo carneiro expressa uma dimenso emo-
cional prxima ao dio e maldio. O antema obriga o seus filhos a man-
ter uma conduta ritual contrria a este animal, de tal modo que filhas de Ians
no podem mexer em oferendas preparadas com a sua carne. Para alm dessa
expresso obrigatria dos sentimentos (MAUSS, 1980), muitos filhos-de-santo
dizem se sentir fisicamente incomodados pela viso ou pelo cheiro da carne
de carneiro, descrevendo reaes concebidas segundo o modelo da antipatia
de Ians. o caso de um pai-de-santo que se diz muito ligado a Ians: Depois
14 O essencial se faz contingente, a natureza do orix se determina junto biografia mtica, onde se justificam
vrios repdios, segundo uma continuidade entre natureza e histria humana (mtica), corolrio da
continuidade entre natureza e cultura, entre exterioridade objetiva e interioridade subjetiva. (DESCOLA, 2005)
211
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 211 25/07/2013 09:08:52
francesca bassi
de ter feito o santo, no suportei mais a carne do carneiro, no somente eu no
como, mas mesmo o cheiro no suporto mais. O carneiro no entra mais na
minha casa!.
Efetivamente, a afiliao ao orix considerada capaz de transmitir traos
incorporados das suas antipatias. Eventos mticos viram essenciais, se natu-
ralizam, assim, nas sensaes de repulsa, isto , na ojeriza por elementos que
resumem acontecimentos mticos negativos, construindo relaes entre o ini-
ciado e os orixs por meio de afetaes. Desencontros mticos fixados em des-
gostos15 dos orixs podem, portanto, se reproduzir no filho-de-santo, tornando
manifesta uma relao marcada pela consubstancialidade.
A partir do momento em que as idiossincrasias dos orixs so pensadas
como manifestaes corporais e sensoriais enjoos, dificuldades digestivas,
tonturas, alergias alimentares , todo sintoma do novato pode revelar liga-
es at ento desconhecidas com os orixs. Cabe destacar que estas quizilas
no representam, mas fazem presente o orix por meio da eficcia das suas
antipatias, o que atende ao argumento de Todorov relativo a certos processos
de simbolizao que, mais uma vez, nos levam longe de um quadro coerente
de representaes:
[...] a relao metonmica agente-ao mais importante que a relao me-
tafrica entre a imagem e o ser representado. Um certo desenho no faz sen-
tido se no inciso (ao) naquele objeto particular: adquire um sentido por
meio de uma relao metonmica de lugar. (TODOROV, 2008, p. 305)
Um elemento vira quizila porque teve lugar num agenciamento, segun-
do tipos de tropos que, como sugere este autor, no respondem s represen-
taes sistemticas ou s classificaes, mas apontam para acontecimentos,
aes, colocaes. As listas dos antroplogos, no obstante possam enumerar
algumas das quizilas principais, falham em exaustividade porque amarram a
criatividade inerente ao simbolismo num papel ordenador de essncias e de
ontologias fechadas, isto , na iluso da totalidade de uma dada classificao.
(Strathern, 2006, p. 267) As quizilas particularizam em modo aparente-
mente indefinido, pois localizam simbolicamente os terreiros, os filhos-de-
15 Sobre o conceito de desgosto, ver Rozin et al. (1997).
212
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 212 25/07/2013 09:08:52
as ojerizas do povo-de-santo
-santo, enfatizando ou fabricando idiossincrasias, ditando que cada um di-
ferente. Nos relatos do povo-de-santo, frequentemente as quizilas so citadas
como determinados fenmenos contextualizados, relativos a desgostos pesso-
ais e a lugares ou posies sociais especficas (o terreiro, a me-de-santo etc.) :
As minhas quizilas so as coisas que eu no amo. Mas quando era yawo descobri
que tambm no podia comer aipim e batata doce, que eu gostava. Eu sabia dis-
so... mas s vezes eu comia, mas depois tive uma alergia. Com a batata doce tive
gastrite. A abbora uma grande quizila, mas no quizila de todos. Cada um
diferente. Aqui no terreiro ningum come feijo branco, nem a pinha. A minha
me-de-santo no come mel. As quizilas no matam, mas provocam problemas,
foi assim que me foi explicado. (Alzira de Oxal)
Estes interditos de aspecto estocstico se definem, portanto, em relao s
comprovadas reaes fsicas que fazem presente a ao do orix ou odu. Como
mostra a narrativa de Alzira sobre os acidentes de ordem alimentar, a desco-
berta de uma alergia e de uma gastrite que comprova a efetividade das suas qui-
zilas. Ela diz que sabia da existncia das quizilas, mas que as transgredia, como
tpico do perodo do noviciado, pois neste perodo se confirmam, testando os
alimentos, as influncias das qualidades dos orixs na pessoa .
A questo da transmisso da quizila nos permite retomar, com olhar com-
parativo, o trabalho de Smith sobre os interditos na Ruanda (imiziro), cuja an-
lise remete eficcia para alm de um simbolismo rotulado, mostrando como
se fazem os interditos:
Um antepassado que teve relaes desastrosas como um tipo de animal pode
decret-lo imiziro, sustentando-o com o perigo de uma maldio contra todos
aqueles da sua descendncia que o violarem. Ele transmite, assim, uma aler-
gia pessoal a sua linhagem toda, que se motiva menos por uma necessidade
intrnseca e mais pelos efeitos inevitveis da maldio. (SMITH, 1979, p.18)16
Este interdito, explica Smith, no obedece a nenhuma necessidade inter-
na e nenhuma relao, alm daquela resultante do plano puramente acidental,
16 Esse interdito lembra a antipatia de Oxal pela raa equina: ela ligada ao cativeiro deste orix no reino de
Xang, quando, confundido com um ladro de cavalo, foi preso. Em geral, os filhos de Oxal devem respeitar
a quizila de cavalo e alguns deles podem pegar esta quizila, isto , a quizila pode ser eficaz, causando um
relacionamento difcil entre a pessoa e o animal (por ex., as pessoas se acidentam com cavalos).
213
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 213 25/07/2013 09:08:52
francesca bassi
que postulada entre o animal e a linhagem. Ao mesmo tempo, o interdito
em nada define a sociedade ruandesa e no se ope a outros do mesmo tipo,
como num modelo totmico. (SMITH, 1979, p. 9) A maldio que sanciona os
interditos deste tipo consiste no desaparecimento da linhagem, pois a regra
exogmica tem como referncia um antepassado e as suas alergias.17
Deste modo, a eficcia do interdito alude particularidade da linhagem,
fazendo, ao mesmo tempo, o antepassado presente nos descendentes por meio
da sua alergia pessoal, para alm de uma associao do interdito com sistemas
de diferenas. Encontramos a ideia de um contato, por meio da transmisso
da alergia e, portanto, o que ressaltado no um pensamento ontolgico que
diferencia, afastando unidades discretas, mas uma histria que particulariza,
individualiza, juntando pessoas com as mesmas alergias.
De maneira anloga, no Candombl, a quizila faz comparecer o orix no
plano da afetao e da sensibilidade: a antipatia que, por princpio, se trans-
mite aos filhos-de-santo objetiva biografias mticas, identifica histrias, mas
no classifica nem sistematiza metaforicamente oposies natureza-cultura
numa totalidade fechada. A quizila pode ser eficaz no corpo do filho-de-santo,
abrindo caminho para o reconhecimento de relaes especficas, que levam
a um processo de individuao: aquela qualidade do orix que se apresenta,
junto com a memria de um acontecimento, como sensibilidade prpria dele
e do filho-de-santo.
Uma primeira concluso pode ser rubricada: uma definio da quizila
tem que lidar com processos diferenciadores muito especficos que chegam
ao particularismo das idiossincrasias de cada um. Uma linhagem espiritual,
no caso do Candombl, supera os modelos mticos, segundo uma lgica dos
eventos e das agncias, em suplementariedade ao pensamento classificatrio
e ontolgico. O filho-de-santo se situa, portanto, no reconhecimento das suas
sensibilidades como quizilas, para alm de uma viso do simbolismo coletivi-
zante, para precipitar, em ltima anlise, a sua pessoa.
17 A aparente inconsistncia desse tipo de interdito, a ausncia de um rumo classificatrio, foi observada
tambm por de Garine (1991, p. 973-976) numa pesquisa no Chade (etnia Moussey). Analisando tabus
alimentares como sistemas abertos e dinmicos, adaptados s situaes singulares, o autor explica como
possvel inventar interdies, observando: no se pode excluir que repugnncias individuais, desgostos
sensoriais se cristalizaram e perenizaram como interditos familiares e de linhagem.
214
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 214 25/07/2013 09:08:52
as ojerizas do povo-de-santo
Identificando relaes: a construo da pessoa
As reaes pessoais e corporais podem ser pensadas como marcas somticas
e sensoriais da contiguidade do orix e de suas antipatias no corpo dos filhos.
Podemos, portanto, agora, indicar a hiptese de que no povo-de-santo h uma
disposio, nos atos cotidianos, para pensar os orixs por meio da sensao cor-
poral. (GANDOLFO, 2006) A incorporao da quizila constitui o dispositivo da
eficcia e o filho -de-santo manifesta uma certa complacncia quando conse-
gue alinhar-se com os desgostos alimentares dos orixs que o influenciam:
Sempre passava mal quando comia caranguejo. Quando entrei no Candombl
compreendi que era por causa de Omolu, o dono da minha cabea. A eu deixei
de comer. Eu tenho alergia porque sou filha dele. (Sandra de Omolu)
O respeito s quizilas pode, assim, se fazer espontaneamente, a partir de
uma repulsa que envolve todos os sentidos. Notadamente, depois da iniciao,
os filhos-de-santo, conectados atravs dos rituais de feitura com os orixs, so
considerados aptos para desenvolver somaticamente uma percepo do orix.
(NERI, 2005) Esta incorporao da quizila se apresenta, consequentemente, tan-
to como uma reao negativa do organismo aos estmulos externos (os alimen-
tos, notadamente), quanto como um desenvolvimento da faculdade de perceber,
com os sentidos, o relacionamento do iniciado com os orixs. A sensibilidade
pessoal a um alimento, que pode se relacionar s sensaes (ojeriza), s emoes
negativas (averso, antipatia) e s reaes fsicas (alergia), considerada indcio
de um destino especfico e diz respeito a um percurso de vida, a uma biografia.
O pai-de-santo Genivaldo, raciocinando sobre o envolvimento do plano senso-
rial do adepto, atingido no corpo (sensao) e nos afetos (averso), aponta para o
azar trazido pelos alimentos quizila: A comida quizila faz mal, ento no coma,
pode trazer problemas. provvel que voc j teve sensaes negativas com esse
alimento ou que voc j sentiu uma ojeriza, uma averso.
Os mais antigos advertem aos novatos que a quizila pode atrasar a vida
da pessoa e que alergias ou outros sintomas revelam quizilas desconhecidas,
mas que outros problemas podem decorrer de quizilas silenciosas, assinto-
mticas. O receio de acidentes parece evocar os tropeos numa armadilha situ-
ada no caminho da pessoa. (Smith, 1979)
215
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 215 25/07/2013 09:08:52
francesca bassi
A sabedoria mtica mostra como certos elementos j foram negativos para
os orixs. Deste modo, toda eficcia negativa de um elemento se aproxima
ideia de um indcio que avisa sobre uma situao prejudicial desconhecida, mas
includa no destino pessoal. O que o corpo recusa a verdadeira quizila, expli-
cam os filhos-de-santo: esta sensibilidade, que constitui a eficcia dos inter-
ditos em termos corporais, revela as relaes que fazem a pessoa, fazem o seu
destino, a partir dos acontecimentos que a afetam.18 Aparece, assim, a pessoa
como articulao de relaes que so constatadas no corpo. O filho-de-santo,
como composto de relaes, no isento de marcas dos orixs enquanto agen-
tes, como sugere Strathern:
uma srie de eventos est sendo revelada no corpo, que se torna, assim, com-
posto de aes histricas especficas de outros sociais: o que as pessoas fi-
zeram ou no fizeram a algum ou para algum. A pessoa apropria a prpria
histria. (Strathern, 2006, p. 205)
A especificidade histrica de cada filho-de-santo dada pelas relaes com
a qualidade do prprio orix, com os outros orixs assentados e com aqueles
que falam no odu. (Goldman 1987, p. 100) As sensibilidades relacionadas s
quizilas desvendam esses agenciamentos no momento que a pessoa pensada
como consubstancial a essas relaes. So os eventos que falam pelos orixs.
Notadamente, as sensaes de mal-estar so intuies que o orix principal
(Olori), na sua qualidade particular, encarnado naquele especfico filho-de-
-santo, cuja energia localizada na cabea, determina: Meu odu e meu orix
no comportam a quizila do caranguejo: mas se um dia eu comer caranguejo e pas-
sar mal e a minha cabea perceber que no posso comer, eu vou deixar de com-lo.
(Detinha de Xang)
As reaes fsicas, indcios de quizilas desconhecidas, que sinalizam rela-
es existentes com os orixs e odus, atravs de elementos mediadores, des-
vendam, de forma discreta e pelo avesso, a singularidade do adepto. Em geral,
pode-se apreciar uma distino entre as quizilas gerais dos orixs (de preceito)
e as quizilas de cada um.
18 Adotamos aqui a noo de pessoa elaborada por Strathern (2006).
216
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 216 25/07/2013 09:08:52
as ojerizas do povo-de-santo
Eu sou uma filha de Oxal e assim eu no como alimentos temperados com leo
de palma na sexta-feira, mas eu no tenho o dend como quizila. Eu tenho quizila
de muitas outras coisas, as quizilas de odus e da qualidade do meu santo. (Elpidia
de Oxal)
O reconhecimento destas quizilas, inextricavelmente ligadas s percep-
es e ao corpo, implica sintonizaes progressivas com o prprio bem-estar e
com o desenvolvimento de capacidades perceptivas:
As quizilas so as coisas que no se do bem com voc: se a pimenta (at) te d
uma clica, quer dizer que no te faz bem, uma quizila... Se uma comida me faz
mal, eu a recuso e descubro assim mais uma quizila. Meus filhos tambm devem
descobrir as quizilas deles. A quizila uma forma de enjoo, ou algo que d ojeri-
za. A quizila vem atravs do orix, so as coisas que voc no suporta, que no
combinam com voc, ento no deve comer, porque no pode comer o que no se
d bem com voc. (Kiko, pai-de-santo)
As verdadeiras quizilas sugerem uma relao de contiguidade com os ori-
xs, atravs de indcios ou de sintomas, a partir do momento que indicam os ele-
mentos contrrios s suas qualidades especficas, transmitidas ao filho-de-san-
to segundo uma replicao de substncia.19 Os orixs tambm alertam, falam
nos odus, durante o jogo, sobre incompatibilidades da pessoa com elementos e
com acontecimentos desagradveis:
o orix que enuncia a quizila: no coma isso para no ter problema, para no tra-
var o caminho. Ele pode dizer que um alimento traz um encosto, que um outro ele-
mento pode enfraquecer a pessoa... O pai-de-santo v no jogo. Pode ser comida, mas
tambm um monte de outras coisas: tem quizilas que probem a pessoa dormir fora
de casa, de usar chinelos, de sair meia-noite, de fazer festa. (Genivaldo de Omolu)
O pai-de-santo Genivaldo enfatiza a ligao das quizilas com a particulari-
dade de cada um depois da iniciao (da recluso na camarinha), notadamente
a partir do odu (caminho) desvendado pelo jogo:
Quando voc sai da camarinha, voc vai saber as suas quizilas. As quizilas corres-
pondem ao seu caminho (odu): questo de poder ou no poder fazer... As pessoas
pensam que, por exemplo, por causa de Iemanj, no se pode fazer tal coisa ou
19 Sobre este conceito, confira Strathern (2006, p. 312).
217
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 217 25/07/2013 09:08:52
francesca bassi
tal outra, mas no bem assim: cada caso um caso. Duas pessoas de Iemanj
so como dois irmos, mas eles so diferentes, eles tem quizilas diferentes. (Ge-
nivaldo de Omolu)
Tudo leva a considerar que o processo de individuao se desenvolve nos
dois sentidos: os acontecimentos se acrescentam ao sujeito para defini-lo
como uma espcie de mosaico e, reciprocamente, o sujeito une os aconteci-
mentos relacionando-os a ele mesmo. (Bastide, 1973, p. 34) A replicao da
substncia do orix no corpo do iniciado implica considerar, deterministica-
mente, sensibilidades que alcanam uma supra determinao: todas as aler-
gias ou os enjoos podem dar lugar s interpretaes a partir de associaes
particulares ou invenes, isto , a eficcia da quizila diz respeito s singula-
ridades inatas que se articulam, fazendo com que o iniciado ajuste a si prprio
eventuais convenes coletivas. (Wagner, 1981) A eficcia revela relaes, as-
sim como novas definies das caractersticas inatas das pessoas. A herana
ou a transmisso, por meio do ritual, se equiparam, pois realizam a consubs-
tancialidade: Eu no como carne de porco, mais de uma vez passei mal comendo-a,
ento eu compreendi que eu tinha herdado esta quizila do meu av que era rabe.
(Alzira de Oxal)
Neste caso, a proibio de origem muulmana da carne de porco, que eva-
de do conjunto de interdies tiradas do corpus mtico referente aos orixs e ao
odu, no deixa de ser quizila da pessoa, atravs do princpio da eficcia, isto ,
o mal-estar que, como diz a filha-de-santo, se apresenta segundo uma certa re-
gularidade. No caso citado, a herana familiar se combina com a herana espi-
ritual (do ax), pois a famlia de Alzira do santo. Podemos, portanto, concluir
que as quizilas da pessoa so extradas ad hoc de um simbolismo compartilha-
do, assim que toda regularidade pode associar-se a um contexto simblico
e marcar uma singularidade que tambm atualizao de uma relao. A efi-
ccia da quizila objetiva as relaes, que se manifestam de uma maneira con-
creta e segundo uma forma aprecivel. (Strathern, 2006, p. 273) Por meio
de separaes de certos objetos (alimentos, cores, etc.), ou seja, por meio do
respeito s quizilas, se articulam incluses, aparecem identidades e se fazem
e desfazem pessoas: Eu respeito as quizilas de meu pai-de-santo. uma herana.
No caso contrrio, como desfazer a pessoa que ele era. (Kiko, pai-de-santo)
218
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 218 25/07/2013 09:08:52
as ojerizas do povo-de-santo
Equiparvel a um sistema da ddiva, no Candombl, a pessoa individual
o lugar no qual suas prprias interaes com os outros so registradas. (Stra-
thern, 2006, p. 206) Se a eficcia da quizila corresponde sensibilidade do
corpo e aos eventos particulares, ela revela um agente invisvel que diz respei-
to ao destino da pessoa, isto , sua histria. Fazendo agir o orix atravs do
seu corpo (lembramos que alergias e intolerncias alimentares so as eficcias
mais comuns das quizilas), para alm das rotuladas imagens dos orixs, a pes-
soa acede a um processo de individuao. So essas aes que fazem a sua uni-
cidade, pois o que indivisvel o poder de agir, como define sempre Strathern
(2006, p. 407). Olhando as quizilas como sensibilidades, possvel enxerg-las
como poderes particularizados dos orixs que fazem aquele filho-de-santo
especfico.
Trata-se de eventos objetivos, decorrentes da ao indireta dos orixs, cau-
sados por elementos dotados de um certo grau de personificao dessas mes-
mas relaes. Podemos concluir que o orix, como agente, faz o filho-de-santo,
como pessoa, atravs de uma troca negativa (a eficcia negativa da quizila),
simtrica e oposta eficcia positiva implcita na oferenda (ebo) troca posi-
tiva , que atualiza, por meio da devoo do filho-de-santo enquanto agente, o
orix como pessoa supranatural. O fato do orix se manifestar atravs de sen-
sibilidades negativas significa, antes de tudo, aproveitar dos acontecimentos
histricos para criar singularidades. No se trata de representar o orix, mas de
fazer, por meio da presena dele, a pessoa do filho-de-santo.
Considerando que, antes da significao, se d a presena do orix, enquan-
to aconecimento-sintoma, esta eficcia que se enfatiza aqui, na medida em
que autoriza definir a quizila para alm de toda associao metafrica entre o
orix e o filho-de-santo. De maneira semelhante aos imiziro da Ruanda conside-
rados por Smith (1979, p.11): a eficcia negativa e a sano imanente no so
caractersticas ligadas a uma certa forma de interdito; so o conceito mesmo.
Em outras palavras, a eficcia que, como um indcio, faz procurar a sig-
nificao. a partir dela, que a quizila (a verdadeira!) se define: em lugar de
representaes prvias, temos eventos que constituem, como indcios, o foco
para dar ensejo ao processo de simbolizao. Os novatos so solicitados a testar
alimentos para confirmar a verdade da quizila; eles so tambm chamados
a relatar as reaes do corpo para averiguar a existncia de outras quizilas. O
219
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 219 25/07/2013 09:08:52
francesca bassi
corpo o local do que pode ser adivinhado, segundo a continuidade entre sin-
toma e indcio (mais uma consequncia da continuidade entre natureza e cul-
tura). A confirmao das quizilas , portanto, uma prtica cngrua com a lgica
circular dos sistemas divinatrios, que desvendam, mas tambm interpretam,
ex post factum. (Sindzingre, 1991; Aquino, 2004) Conhecidas a priori como
incompatibilidades a respeitar, e interpretadas a posteriori como incompatibili-
dades que se revelam, as quizilas contribuem para a definio da identidade do
filho-de-santo (da sua essncia e da sua histria) a partir de suas relaes com
energias invisveis que se fazem eficazes no corpo por meio de objetos visveis.
As percepes citadas por vrios filhos-de-santo so comparveis s for-
mas de adivinhao secundria ou inspirada. (Zemplni, 1995) Elas podem
ter como objetivo confirmaes ulteriores do jogo formalizado. Mas, em geral,
tanto os efeitos podem confirmar a verdade das supostas quizilas tiradas do
jogo quanto o jogo pode avaliar se as alergias ou outros sintomas reais so
quizilas de santo (e no unicamente da matria). Vale ressaltar que a prtica
divinatria proporciona indcios em lugar de smbolos:
As elocues divinatrias e a situao que descrevem so associadas por
meio de uma ligao casual, e no descritiva ou simblica. Isto leva Boyer a
afirmar que os signos divinatrios no so smbolos, mas indcios [...]. As-
sim como sintomas so indcios de uma doena que os causa, as elocues
divinatrias so consideradas como indcios ou seja, efeitos da situao
que se prestam a descrever. (Zemplni, 1995, p. 338, traduo nossa)
A eficcia das quizilas: um oco terico?
A questo das quizilas pessoais abordada por Augras (1987) quando afirma
que, no Candombl, as interdies sofrem inmeras variaes, pois no es-
to ligadas apenas s caractersticas de cada orix que so mais ou menos
universais mas tambm se originam das diferentes idiossincrasias de cada
iniciado. A autora explica que o odu de nascimento o signo do destino de-
termina para um iniciado suas quizilas. Ela tambm comenta:
Na minha vivncia no terreiro, confesso que jamais consegui deslindar o
que poderia ser criao individual do que era apresentado pelo prprio orix
220
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 220 25/07/2013 09:08:52
as ojerizas do povo-de-santo
ou odu [...] Em compensao o que se observa, na vida cotidiana da comu-
nidade, o progressivo ajustamento do filho-de-santo s quizilas que lhe
foram indicadas. (AUGRAS, 1987, p. 68)
Depois da iniciao, o filho-de-santo incitado a fazer uma avaliao das
comidas que so, de alguma forma, indigestas ou nocivas, para confirmar qui-
zilas j conhecidas ou descobrir outras desconhecidas. A autora conclui:
Parece que o filho-de-santo vai negociando constantemente suas possibilida-
des de ao e seus limites. Novamente encontramos o jeitinho como meca-
nismo intrnseco de lidar com o sagrado [...]. O iniciado vai cada vez mais se
conscientizando de suas particularidades, negociando com o orix a exten-
so de seus limites, eventualmente, tentando-os pela prtica da transgresso.
(AUGRAS, 1987, p. 69)
Augras introduz aqui explicaes que dependem de uma definio da qui-
zila como categoria normativa, o que deixa inexplorada a questo da eficcia
ligada s sensibilidades particulares, embora o assunto seja apontado pela au-
tora, quando comenta que uma boa parte das quizilas promove a conscientiza-
o das particularidades do iniciado. Em geral, Augras analisa as quizilas a par-
tir de uma teoria scio-religiosa da lei, da transgresso e da reparao. Todavia,
com a adoo de uma perspectiva dinmica, a criatividade da transgresso e
da desordem tambm considerada: dinamiza o sistema religioso, obrigando
s reparaes por meio de oferendas (ebo), fazendo circular a energia sagra-
da (ax) ligada aos orixs. No entanto, como a mesma autora sugere, difcil
achar no Candombl um verdadeiro sistema de expiao, ainda mais porque
at mesmo o castigo permanece no vago: Quase nunca referida uma situa-
o especfica em que, por infringir tal proibio, algum recebeu tal castigo,20
e os castigos correspondem a uma ideia de nocividade genrica: o santo no
gosta [...] pode no, faz mal. (AUGRAS, 1987, p. 75)
No trabalho de Augras permanece o vcuo terico de que sofre a sano
automtica e imanente (o fazer mal) das interdies, mas que pode ser preen-
chido, a meu ver, seguindo a ideia de alergia que caracteriza o discurso nativo
20 Por inciso, parece-me aqui evocada a questo das sanes msticas e vagas das interdies rituais que tanto
peso tiveram na literatura antropolgica sobre o tabu e o mana. Confira Mauss (1969).
221
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 221 25/07/2013 09:08:52
francesca bassi
sobre os interditos. Quando uma pessoa se considera alrgica, o foco da aten-
o cai sobre a propriedade negativa do alimento que produz efeitos indesej-
veis, de modo que se trata mais de uma descoberta que de um ato transgressivo
(SMITH, 1979, p. 39): uma vez detectada a alergia, poder ser prescrita a dieta
alimentar adequada. Um mdico no pode fazer prescries se no conhece as
sensibilidades do paciente alm dos testes alrgicos, no relato de reaes
que se faz a diagnose. De modo anlogo, quando os interditos so concebidos
como alergias, isto , incompatibilidades simblicas com efeitos reais (o fa-
zer mal), difcil pensar em termos de castigo e de uma expiao pela violao
de uma lei religiosa, j que a alergia pensada, antes de tudo, como o apare-
cimento ou a confirmao de uma sensibilidade a mais a respeitar. Trata-se,
portanto, de uma cautela de cunho ritualstico que se situa num nvel muito
pessoal do adepto: o prprio corpo.
A teoria da interdio adotada por Augras, que se estende linearmente, se-
gundo o que ela define como o trinmio proibio/transgresso/reparao
(1987, p. 76), mal se aplica s quizilas baseadas na eficcia negativa automtica
(aparecimentos de sintomas). A lgica destas quizilas (analogamente lgica
do imiziro analisada por Smith) circular, pois ela coloca no centro o evento
(a alergia, a intolerncia), concebido como a manifestao da eficcia de uma
sensibilidade -interdio (alimentar, no caso) a mais a respeitar e que est, pa-
radoxalmente, se revelando atravs dos seus mesmos efeitos. Referir-se s qui-
zilas por seus efeitos objetivos, espontneos, em lugar de uma hipottica conse-
quncia da transgresso e da sano de uma norma previamente representada
e expressa, como parece sugerir Augras, possibilita, conforme argumenta este
texto, elaborar a eficcia da quizila a partir do conceito de revelao de uma in-
compatibilidade. Isto possibilita tambm no perder de vista a eficcia da quizi-
la como propriedade constitutiva da pessoa, adequada sua singularidade, para
alm da lgica normativa da noo clssica de interdito.
Vale ressaltar que Augras (1987) admite que a explicao da quizila baseada
unicamente na ideia de um conjunto de normas explcitas, coletivas, inerentes
s representaes dos orixs invivel. Lembrando como nos primeiros quarenta
dias depois da feitura o novato deve testar o que faz mal para confirmar as suas
prprias quizilas, pergunta-se se esta dimenso pessoal no seria a mais relevan-
te para a compreenso das quizilas do Candombl. A autora observa tambm que:
222
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 222 25/07/2013 09:08:53
as ojerizas do povo-de-santo
[...] a identidade mtica no implica a perda no coletivo. Ao contrrio, o ini-
ciado vai cada vez se conscientizando de suas particularidades, negociando
com o orix a extenso dos seus limites e, eventualmente, tentando-os pela
prtica da transgresso. (AUGRAS, 1987, p. 75)
De fato, o filho-de-santo vai conhecendo o seu relacionamento com os ori-
xs e com a influncia dos odus atravs de eventos: a noo de transgresso im-
plica fronteiras formadas, o que mal se aplica a esta ontologia especfica, sem-
pre definvel pelas relaes invisveis que geram eventos e fazem o destino.
Concluso
Concluindo, podemos ressaltar que, se por um lado, no Candombl, h
proibies cujo respeito se apresenta como uma exigncia coletiva em defe-
rncia a um orix ligado ao terreiro, ao chefe da casa e em relao s represen-
taes compartilhadas, relativas aos diversos orixs, por outro, estas quizilas
nem sempre so percebidas como prprias. As quizilas que se destacam na fala
dos interlocutores so aquelas chamadas verdadeiras e que implicam uma
dimenso factual capaz de manifestar a singularidade do filho-de-santo.
A lgica da quizila analisada neste trabalho se acorda, portanto, com a
ideia de que um mundo que pode ser adivinhado um mundo que se faz na
continuidade natureza-cultura, cujas causas naturais so, portanto, efeitos de
relaes. Trata-se de uma cosmologia especifica, isto , de um mundo em de-
vir que responde a uma natura naturans no lugar de uma natura naturata (SA-
BBATUCCI, 1989), onde os acidentes, em geral, e o aparecer de alergias ou de
intolerncias alimentares, em particular, so as eficcias das antipatias sim-
blicas, na medida em que revelam os efeitos das relaes com orixs. Nestes
casos, as quizilas perdem a ligao imediata com as representaes mticas e
podem ser definidas, antes de tudo, nos termos de agncias que se apresentam
atravs de alergias, antipatias, ojerizas sensaes e emoes negativas. Dife-
rentemente dos interditos profilticos, que definem o iniciado em oposio
s energias negativas, ou seja, contra foras exgenas (impuras), e diferen-
temente dos interditos que diferenciam grupos de orixs entre si, as quizilas
pessoais, eficazes e, consequentemente, verdadeiras, so aquelas cujos efei-
tos reais pulverizam toda representao nos acontecimentos vivenciados
223
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 223 25/07/2013 09:08:53
francesca bassi
pelo filho-de-santo e so pensveis como interaes particularizadas entre
ele e o orix. Como vimos, estas quizilas favorecem a emergncia de um ser
singular, original, a partir de uma complexa relao do iniciado com os orixs
e com o seu prprio destino (odu).
No caso destas quizilas, podemos afirmar que cada evento, antes de ser
analisado como smbolo, uma agncia, isto , efeito e prova de uma relao.
Estas quizilas so difceis de serem definidas porque escapam das representa-
es convencionais, fazendo convergir representao e causalidade. Elas po-
dem ser analisadas como interdies rituais, refletindo um aspecto paradoxal
da lgica ritual (Houseman, 2006): elas podem ser dadas previamente como
normas, mas podem tambm ser encaradas como indcios-sintomas, isto ,
eficcias desconhecidas, constituindo, paradoxalmente, premissa e resultado
da relao entre filho-de-santo e orix.
Referncias
AQUINO, Patricia de. Paroles dobjets ou le carrefour des coquillages divinatoires du
Candombl: systmes de pense en Afrique noire. Le rite luvre. perspectives afro-
cubaines et afro-brsiliennes, n. 16, p. 11-47, 2004.
Augras, Monique. Quizilas e preceitos: transgresso, reparao e organizao
dinmica do mundo, In: Moura, C. E. M. de (Org.). Candombl. desvendando
identidades. Novos escritos sobre a religio dos orixs. So Paulo: EMW Editores, 1987.
BASTIDE, Roger. Le principe dindividuation. La notion de personne en Afrique noire.
Colloques internationaux du CNRS, Paris, n. 544, p. 33-43, 1973.
Beniste, Jos. Jogo de Bzios: um encontro com o desconhecido. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 1999.
BINON, Gisle Cossard. Contribution ltude des Candombls au Brsil: le candombl
Angola. Thse de doctorat de 3 cycle de la facult de Lettres et Sciences Humaines,
Paris: Universit de Paris, 1970.
BINON, Gisle Cossard. A Filha-de-Santo. In: Moura, C. E. M. de (Org.). Olrs.
Escritos sobre a religio dos orixs. So Paulo: gora, 1981.
DESCOLA, Philippe. Par - del nature et culture. Paris: Gallimard, 2005
DOUGLAS, Mary. De la souillure: essai sur les notions de pollution et de tabou. Paris:
Maspero, 1971.
FERREIRA, Aurlio Buarque de Holanda. Aurlio sculo XXI: o dicionrio da lngua
portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
224
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 224 25/07/2013 09:08:53
as ojerizas do povo-de-santo
FRAZER, James. Taboo. Encyclopaedia Bitannica, 9. ed., Edimbourg: A. And C. Black, t.
23, 1888.
GANDOLFO, G.; LEGRAND, D.; TALAND, F.; MOURARD, P.; GRAMMONT, F.
Lintelligence du Geste. Revue de lAPBG, n. 1, p. 131-162, 2006.
GARINE, Igor de. Les interdits alimentaires dorigines sociale et religieuse. La Revue
du Praticien, n. 11, p. 973-977, 1991.
GOLDMAN, Mrcio. A construo ritual da pessoa: a possesso no Candombl. In:
Moura, C. E. M. de (Org.). Candombl: desvendando identidades: novos escritos sobre a
religio dos orixs. So Paulo: EMW Editores, 1987.
HRITIER, Franoise. Les deux surs et leur mre. Paris: Odile Jacob, 1994.
HERTZ, Robert. Le pch et lexpiation dans les socits primitives. Revue de lHistoire
des Religions, v. 86, p. 1-60, 1922.
HEUSCH, Luc de. Prface. In: Douglas, M. De la souillure: essais sur les notions de
pollution et de tabou. Paris: Maspero, 1971.
HEUSCH, Luc de. Les vicissitudes de la notion dinterdit. In: MARX, J. (Dir.). Problmes
dhistoire des religions: religion et tabou sexuel. Bruxelles: Edition de lUniversit de
Bruxelles, 1990.
HOUSEMAN, Michael. Relationality. In: Kreinath, J.; Snoek, J.; Stausberg, M.
(Ed.). Theorizing Rituals: classical topics, theoretical approaches, analytical concepts,
annotated bibliography. Leiden: Brill, 2006.
LACOURSE Jose. Quand les hommes rencontrent les dieux: du cheminement
initiatique la logique rituelle dans le Candombl de Bahia. Lethnographie, n. 86-2, p.
9-19, 1981.
LVY-BRUHL, Lucien. Lexprience mystique et les symboles chez les primitifs. Paris:PUF,
1938.
MAUSS, Marcel. La religion et lorigine du droit pnal. Revue de lHistoire des Religions.
v. 35, p. 31-60, 1897.
MAUSS, Marcel. A expresso obrigatria dos sentimentos. In: Figueira, S. (Org.).
Psicanlise e Cincias Sociais. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1980.
MEAD, Margareth. Taboo. Encyclopaedia of the social science. New York: Ed. Seligman,
v. 13, 1937.
RADCLIFFE-BROWN, A.R. Taboo. Cambridge: Cambridge University Press, 1939.
Rozin, P. et al. Body, psyche, and culture: the relationship between disgust and
morality. Psychology and Developing Societies, v. 9, p. 107-131, 1997.
SABBATUCCI, Dario. Divinazione e Cosmologia, Milano : Il Saggiatore, 1989.
SANTOS, Juana Elbein dos. Os Nag e a morte. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1975.
225
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 225 25/07/2013 09:08:53
francesca bassi
SINDZINGRE, Nicole. Divination. In: Bonte, P.; Izard, m. (Dir.). Dictionnaire de
lEthnologie et de lAnthropologie. Paris: Presses Universitaires de France, 1991.
SMITH, Pierre. Lefficacit des interdits. LHomme, v. 19, n. 1, p. 5-47, 1079.
SMITH, Perre. Interdit. In: Bonte, P.; Izard, M. (Dir.). Dictionnaire de lEthnologie et
de lAnthropologie. Paris: Presses Universitaires de France, 1991.
STEINER, Franz B. Tabu. Torino: Bollati Boringhieri, 1980.
Strathern, M. O gnero da ddiva: problemas com as mulheres e problemas com a
sociedade na Melansia. Campinas: Editora da Unicamp, 2006.
TAVARES, Ftima; Bonet Otvio. O cuidado como metfora nas redes de prtica
teraputica. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. (Org.). Razes pblicas para a
integralidade em sade: o cuidado como valor. Rio de Janeiro: Cepesc. 2007.
TODOROV, Tzvetan. Teorie del simbolo. Milano: Garzanti, 1991.
Wagner, R. The invention of culture. Chicago: The University of Chicago Press, 1981.
WEBSTER, H. Le Tabou: etude sociologique. Paris: Payot, 1952.
ZEMPLNI, A. How to say things with assertive acts? In: Bibeau, G.; Corin, E. (Ed.).
Beyond textuality. Berlin: Mouton de Gruyter, p. 233-247, 1995.
226
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 226 25/07/2013 09:08:53
A crise da eficcia simblica enquanto padro
interpretativo da terapia e cura no espiritismo
kardecista brasileiro
Indeterminao e banalizao
Marcelo Ayres Camura
A ideia de eficcia simblica na teoria antropolgica como explicao para o
enigma da teraputica e da cura exitosa em contextos nativos me evoca a
clebre figura do feiticeiro Quesalid do texto de Lvi-Strauss1 (1991b).
Quesalid era um ctico quanto ao poder curador dos xams que por curio-
sidade adentra-se neste meio no intuito de descobrir seus truques e prestidi-
gitaes. A partir de uma tcnica que aprende na qual um tufo de penugem
colocado dentro da boca e misturado com sangue, produto de uma mordida in-
tencional na lngua, apresentado como a doena que o curador suga do seu
paciente , ele comea a testa-la em doentes de sua regio. O espantoso que
o mtodo de Quesalid redunda em grande xito, sobrepujando e invalidando
todos os mtodos dos outros xams e tornando este personagem reconhecido
pela populao como o melhor feiticeiro destas paragens.
Lvi-Strauss (1991b, p. 207) vai interpretar este caso atravs do que nomeia
de complexo xamanstico, composto por trs elementos: o xam, que oferece
uma proposio; o doente, que clama por ela; e o pblico, que chancela qual
das ofertas a mais legtima. Tudo isso se passa no plano das estruturas men-
tais (as doenas so de natureza psicossomtica) articulado aos sistemas so-
ciais. O doente expressa a condio do exigvel portador de uma carncia de
1 Na verdade poderia me referir a outro texto de Lvi-Strauss no mesmo livro, que inclusive tem o sugestivo
nome do que est em questo: A eficcia simblica, que relata a tcnica de um xam Cuna de empregar com
sucesso o uso de uma cano para resolver um parto complicado. (1991, p. 215-236) A cano porta um mito
que a paciente, ao reviv-lo, consegue ter xito no seu parto. Aqui, como no texto O Feiticeiro e sua magia,
tambm a relao dos smbolos com seus significados que vai, pelo efeito de sugesto, operar resultados de
carter fisiolgico.
227
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 227 25/07/2013 09:08:53
marcelo ayres camura
significado, ao passo que o xam expressa o disponvel fornecedor de uma
pletora de significantes. (1991b, p. 210) No plano do pensamento, o doente sig-
nifica o informulvel, a passividade, enquanto que o feiticeiro, a partir da
posse de uma nutriz de smbolos, exerce a atividade, o extravasamento em
direo ao segundo. (1991b, p. 211) A cura xamanstica resulta de uma situa-
o de equilbrio entre as duas condies (LVI-STRAUSS, 1991b, p. 210), onde
o coletivo que reconhece, do estoque de smbolos oferecidos pelos xams
concorrentes, aquele que mais adequa a situao s demandas dos doentes.
Este tipo de proposio, clssica na teoria antropolgica, se situa no rol
de interpretaes no nativas para fenmenos de cura que os nativos pra-
ticam e acreditam. Interpretao compreensiva em relao a estas prticas
e crenas, mas que no significa reiterar, e sim ultrapassar o entendimento
nativo do fenmeno, no se restringindo ao seu aspecto factual, mas pela
mediao do smbolo, remetendo-a a outras dimenses, no caso, cognitivas
e sociais da realidade.
Trago aqui o auxlio de dois textos, que no dizem respeito diretamente ao
tema da cura mgica, mas que tratam das pretenses e limites desta teoria an-
tropolgica na sua busca por desvendar o discurso (mgico-religioso) nativo.
O problema da comensurabilidade do discurso antropolgico em rela-
o ao discurso nativo
Para Viveiros de Castro (2002, p. 113-114), as regras do jogo classicamente
estabelecidas colocaram o discurso antropolgico enquanto o de observador
em relao ao discurso nativo, tomado como o de observado. Uma relao
de sentido que produz uma distino na forma como o antroplogo concebe a
sua relao e a do nativo com suas culturas: a do nativo, intrnseca e espon-
tnea, e a do antroplogo, reflexiva e consciente.
Segundo o autor, a ideia antropolgica de cultura coloca o antroplogo em
p de igualdade, de fato, emprica com o nativo pela condio cultural co-
mum a ambos. Contudo, no uma igualdade de direito, pois no plano do
conhecimento ocorre uma preeminncia do antroplogo, uma vez que ele
quem explica, interpreta, traduz e introduz, textualiza e contextualiza, justifi-
ca e significa. (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 115)
228
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 228 25/07/2013 09:08:53
A crise da eficcia simblica enquanto padro...
O antroplogo detm a posse das razes que a razo do nativo desconhe-
ce. Ele conhece as pores de universalidade e particularidade emprega-
das pelo nativo na construo de seus mundos e por isso pode decifr-las. Na
relao entre as duas formas de pensamento, a do antroplogo e a do nativo, a
do primeiro s pode se viabilizar enquanto discurso credvel atravs da des-
legitimao do segundo. O conhecimento antropolgico, dessa forma, atravs
da utilizao de conceitos extrnsecos ao objeto, j possui de antemo um
arsenal de determinantes (relaes sociais, congnio, parentesco, religio,
poltica) que vo se encaixar no contexto etnogrfico, elucidando-o. Embora o
autor afirme que este modelo clssico de fazer antropologia disse muita coi-
sa instrutiva sobre os nativos, prope recus-lo em prol de outra perspectiva.
(VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 115-116) Rita Segato (1992, p. 114) relaciona o
emprego da noo de eficcia simblica enquanto mecanismo de compreen-
so e deciframento da lgica nativa com a pretenso da teoria antropolgica
que promete compreender em seus prprios termos as crenas nativas, mas
que nos relatos etnogrficos sacrifica parte crucial desta verdade e censura evi-
dncias que a compem.
Para a autora, essa censura decorre das convenes nas quais assentado o
discurso terico-etnogrfico da antropologia. Discurso que trai, por sua inde-
terminao, a experincia que deveria revelar. esse discurso que para Segato
deveria passar por transformaes radicais, buscando, ao lado de sua condio
de inteleco, recriar no leitor a experincia da alteridade com sua interpre-
tao prpria deste vivncia. (SEGATO, 1992, p. 114,116)
O projeto clssico da antropologia, ao buscar correspondncias das cosmo-
logias nativas nos comportamentos ideolgicos e interacionais da sociedade,
termina por reduzi-las a indicadores de identidade, etnicidade, poltica ou en-
conomia, fazendo calar o imaginrio nativo. (SEGATO, 1992, p. 116-117) Desta
forma, a promessa de chegar ao ponto de vista do nativo e interlocuo com
suas verdades revela-se falsa, pois a deciso do que realmente deve ser consi-
derado na experincia e vertido para o relato etnogrfico do antroplogo.
Embora a interpretao antropolgica possa captar aspectos concomin-
tantes do fenmeno com aqueles culturais, sociais ou psicolgicos, revelando
um contexto inteligvel neste fenmeno, algo de fundamental do que os nati-
vos acreditam estar em questo desconsiderado. A agncia do transcendente
229
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 229 25/07/2013 09:08:53
marcelo ayres camura
(no meu caso, dos espritos, dos fluidos, das obsesses), sustentada e demons-
trada pelos nativos, descartada na traduo que se faz para o cdigo disciplinar
antropolgico. (SEGATO, 1992, p. 118)
Para a antropologia, o problema da interpretao da experincia nativa
deve estar relacionado a algo que est fora dela: algo que, sem ser alheio ao
mundo cognoscitivo do nativo, deve pertencer a outra ordem fatual que a ao
a ser interpretada, justamente para gozar de valor interpretativo. Enfim, a ao
observada para a antropologia uma linguagem cuja inteno significativa
deve ser detetivescamente achada em outra parte e todo ato deve ser enten-
dido como uma fala onde o dito sempre algo que est fora do ato mesmo de
dizer. (SEGATO, 1992, p. 120-121. grifo nosso)
Compreender atos mgicos e extraordinrios para a antropologia signi-
fica torn-los verossmeis ao discurso racional, e isso se d pelo artifcio de
encontrar um termo mediador entre a percepo do nativo e a do antroplogo
presente nas duas concepes. Mecanismo que permite a associao e a con-
verso da primeira na segunda. Como no clebre exemplo da obra de Evans
Pritchard, onde, a partir do termo feitiaria, para o nativo, e tenso, para o
antroplogo, e pela constatao que tenso social algo presente nas duas so-
ciedades, possvel fazer a traduo de feitiaria como expresso de tenso
entre vizinhos e pares numa determinada sociedade.
No entanto, para a autora, atravs desse arranjo que purifica o fenmeno,
reduzindo-o a aspectos cognitivos e intelectivos, perde-se toda uma dimenso
peformtica, imaginria e sensvel deste. Algo que porta um componente cha-
ve de participao e experincia, e no necessariamente de observao.
(SEGATO, 1992, p. 122)
A partir de algumas ideias recolhidas nesses dois textos, proponho colocar
a noo de eficcia simblica num modo mais alargado, no se referindo ape-
nas a como cada cura tem sua explicao numa sugesto simblica envolven-
do o doente, o curador e a comunidade, mas como o discurso antropolgico
contorna/desloca o fenmeno singular e objetivo de cada uma dessas curas e, na
forma de uma problemtica geral, vai relacion-las a um sistema social, cultu-
ral, econmico ou psicolgico.
Sidney Greenfield, diante das cirurgias do alm do mdium Edson Quei-
roz que incorpora o Dr. Fritz e, sem anestesia, assepsia, com um canivete,
230
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 230 25/07/2013 09:08:53
A crise da eficcia simblica enquanto padro...
promove incises, promove retiradas de tumores e raspagens de rgos , diz
no ter competncia nem treinamento para avaliar o xito ou fracasso des-
ta terapia. Invocando sua condio de antroplogo, vai se refugiar nos apec-
tos simblicos que conectam o evento a outra ordem de explicao, onde ele
pode opinar. (GREENFIELD, 1999, p. 44, 82)
Rita Segato, no texto mencionado, faz uma autocrtica de ter privilegiado,
em uma etnografia anterior sobre o culto Xang do Recife, a intepretao da
relao das pessoas com seu orix como um mecanismo descritor da persona-
lidade, verdadeira tipologia psicolgica, desprezando o fato de que a atribui-
o de um orix a uma pessoa se d pelo orculo do jogo de bzios. (SEGATO,
1992, p. 126) Isto porque, descrever esse evento a foraria a tomar posio sobre
a coincidncia de os bzios sempre apontarem corretamente a correspon-
dncia entre o tipo do orix escolhido e a personalidade da pessoa consulen-
te. No seu caso pessoal, seu orix foi apontado como Ians, que, segundo ela,
mantinha uma correspondncia com sua personalidade, porm no soube
que papel dar na redao da entografia ao fato de que cada vez que os bzios
foram jogados para mim, efetivamente caram na posio em que Ians fala.
(SEGATO, 1992, p. 126)
A eficcia simblica na antropologia da religio esprita-kardecista
Na gnese dos estudos sobre espiritismo no Brasil, a eficcia simblica, como
uma interpretao do fenmeno para alm do registro nativo, atendeu pelo
nome de funo teraputica. O conceito foi desenvolvido como parte dos esfor-
os pioneiros de Cndido Procpio Camargo (1961, 1973) para implantar uma
anlise sociolgica que desse conta dos fenmenos religiosos no pas. Nesse
sentido, visava detectar uma funo social para as caractersticas mais mar-
cantes das religies brasileiras.
Para Procpio Camargo (1961, p. 93), a funo teraputica vem em par com
outra, a funo de integrao na sociedade urbana, tudo dentro de um qua-
dro mais geral do que, no seu entendimento, o processo de secularizao que
atinge a sociedade brasileira no seu processo de modernizao, onde a racio-
nalidade passa a ser um dos critrios centrais de orientao de vida e valores.
(CAMARGO, 1961, p. 112)
231
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 231 25/07/2013 09:08:53
marcelo ayres camura
Este processo termina por engendrar religies do tipo do espiritismo: re-
ligies internalizadas para tomar o conceito weberiano que o respalda, ou seja,
religies de escolha, pelas quais o indivduo opta pertencer. No entanto, essa
religio apresenta ntidos aspectos mgicos que entrariam em contradio
com a hiptese das tendncias desencantadoras da sociedade. Procpio Ca-
margo busca resolver essa contradio ao conciliar a dimenso mgica com
o poder da dimenso da escolha racional de organizar a vida ntima e atri-
buir valor e sentido s aes e experincias: A capacidade de poder combinar
valores ticos internos, organizados de forma racional, com o estilo sacral de
interpretao da vida, uma das principais razes do sucesso das religies me-
dinicas. (CAMARGO, 1961, p. 112)
Nesse sentido, a funo teraputica articulada funo de integrao,
diante de situaes de crises no plano individual, muitas vezes de aspecto
psicossomtico, visava um ajustamento da personalidade deste indivduo
ao contexto da sociedade urbana. (CAMARGO, 1961, p. 93, 101) Seu propsito
terico demonstrar que a diagnose esprita das principais doenas espiritu-
ais, e suas teraputicas correspondentes, esto circunscritas aos contornos do
subjetivo. No que tange s doenas: pertubaes provocadas por espritos na
mente dos indivduos, doenas crmicas (escolhidas ou induzidas pelo indi-
vduo no plano espiritual para o cumprimento do seu processo evolutivo) e
mediunidade no desenvolvida. J do lado das terapias: processo de desobses-
so, compreenso doutrinria da origem da dor e do sofrimento, e desenvol-
vimento medinico. (CAMARGO, 1961, p. 105) sempre no plano do subjetivo
que ocorre o desajuste, e nesse plano que se daro os processos teraputicos
e a cura, quando este indivduo reencontra o seu equilbrio.
Seguindo a trilha de enfocar o subjetivismo individual como a expresso da
nova organizao social no Brasil, Roger Bastide (1967, p. 13), por sua vez, suge-
riu como mtodo para se compreender a etiologia esprita das doenas espiritu-
ais uma combinao da psicologia com sociologia na qual as manifestaes do
psiquismo individual ganham sentido enquanto representaes coletivas.
Ele interpreta o discurso nativo das doenas causadas por espritos den-
tro do termo freudiano da pulso de si. Estas representariam, de fato, con-
flitos interiores da psique. (BASTIDE, 1967, p. 14) Cada caso particular, sempre
na forma de uma obsesso provocada por um esprito, revela uma constncia,
232
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 232 25/07/2013 09:08:53
A crise da eficcia simblica enquanto padro...
que, para o autor, deve ser analisada no registro de uma psicanlise coletiva
anloga ao que a observao de massa representa para a tcnica sociolgica.
Um nmero expressivo de doenas espirituais nos indivduos, que a etiolo-
gia esprita diagnosticava como uma recusa dos mortos em deixar a compa-
nhia de seus entes mais prximos, foi identificada pelo socilogo como um
complexo de dipo proveniente dos prprios indivduos que se julgavam
obsidiados. Esta recorrncia dos casos de obsesso, que Bastide observou
dentro da monotonia de uma sesso outra (BASTIDE, 1967, p. 14-15), revela
a vontade involuntria nestes indivduos de um dia terem desejado a mor-
te desses parentes desaparecidos, que agora retornam como imagens de um
complexo de culpa na mente deles. Para Bastide, o que existe um recalque
de sentimentos impregnados nos indivduos, que tomam a forma dos entes
mortos em torno dos quais se gestaram estes desejos e traumas: tendncias
poligmicas do pai, tendncias castradoras da me, fantasias incestuosas da
primeira infncia. Segundo ele, esses sentimentos, antes de irromperem des-
controladamente, se encontram recalcados pelo que chama de puritanismo
da pequena burguesia ou de expresso simblica de um certo status social,
manifestao exterior de um comportamento de classe. Aqui est um esfor-
o dele para sociologizar este aspecto subjetivo em representaes coletivas
do que chamou de uma psicologia das classes sociais. Esta moral de classe,
para Bastide, na verdade no mais que um verniz superficial que no con-
segue de fato conter o fluxo destas pulses psquicas em imagens de espritos
obsessores. (BASTIDE, 1967, p. 14-16)
Marion Aubre e Franois Laplantine tratam da questo da doena no espi-
ritismo e da medicina esprita no captulo V do seu extenso livro que aborda o
espiritismo na Frana e no Brasil por seus aspectos histricos, culturais, sociais,
cientficos e estticos. Examinando uma diversidade de casos tratados [...] de
tcnicas utilizadas [...] da personalidade dos mdiuns e das caractersticas pr-
prias de cada centro esprita (AUBRE; LAPLANTINE, 2009, p. 266), ancorados na
narrativa esprita de sua doutrina, eles chegam a um padro recorrente e a uma ti-
pologia que pode ser associada ideia de eficcia simblica. Reproduzem a clas-
sificao esprita das doenas nos seus trs tipos clssicos: doenas crmicas;
doenas devido ao do prprio indivduo em sua atual reencarnao por sua
conduta depravada; e doenas causadas por terceiros [...] [devido] influncia
233
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 233 25/07/2013 09:08:53
marcelo ayres camura
da baixa espiritualidade, de entidades atrasadas que lhe causam a obsesso.
Partem, ento, da interpretao doutrinria esprita de que a grande maioria das
doenas tem um fundo moral e so determinadas pelo processo de evoluo do
esprito nas sucessivas (re)encarnaes. Dentro deste esquema, o indivduo para
progredir na escala espiritual, para apressar o fim das perturbaes e sofrimentos
associados retribuio crmica [...] deve reafirmar ritualmente suas relaes [...]
com protetores e guias. (AUBRE; LAPLANTINE, 2009, p. 254, 256. grifo nosso)
Desta forma, correlacionam a adeso e imerso do indivduo na cosmo-
logia e no imaginrio esprita como a maneira pela qual a doena dissipa-
da nele prprio. Segundo os autores, as doenas provm de uma ruptura, ou,
pelo menos, de uma alterao nas relaes que o homem mantm com o Sagra-
do (aqui, os Espritos superiores). Somente graas aos mdiuns, reequilibran-
do os tensos liames entre o homem e os Espritos, pode-se recuperar o prprio
esquilbrio. Portanto, no plano do simblico que as doenas so interpreta-
das, particularmente atravs do exame do ritual e de seus atores. O ritual da
desobsesso o mais exemplar da etiologia esprita, pois, segundo Aubre e
Laplantine (2009, p. 257, 263), sintetiza, maneira de um fato social total, o sis-
tema esprita da mediunidade, educao e caridade. Na cura da desobsesso,
esto articulados num esquema de troca generalizada envolvendo todos os
atores do que est em jogo: os Espritos superiores, os mdiuns, os doentes e
os Espritos inferiores. (2009, p. 264) Aqui fica evidente uma singular seme-
lhana com o complexo xamanstico de Lvi Strauss com sua trade de atores:
o xam, o doente e a comunidade. No caso, reencena-se o drama social, onde
um mdium toma o lugar do indivduo obsidiado pelo Esprito inferior e revi-
ve toda sua aflio. Nesta encenao, o mdium doutrinador exorta com argu-
mentaes morais o espirito vingativo a abandonar sua empreitada de obses-
so, no sem resistncia do obsessor, que por fim termina cedendo, aceitando
a reeducao doutrinria ministrada, e desta forma se restaura o equilbrio
do processo evolutivo de todos os implicados. No auge desta catarse simblica,
onde uma equipe medinica sustenta o trabalho de desobsesso, auxilian-
do o mdium doutrinador e o incorporador, quando a sesso constituda por
uma cadeia de pessoas de mos dadas, a agitao se transmite [...] como se os
erros cometidos passassem de uns aos outros e os conflitos fossem expressos
e tratados no grupo. (AUBRE; LAPLANTINE, 2009, p. 267)
234
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 234 25/07/2013 09:08:53
A crise da eficcia simblica enquanto padro...
Em um trecho de seus argumentos, os autores assumem o ponto de vista
etnopsiquitrico, no qual a equipe medinica pode ser considerada como
uma equipe psicoterpica e psicopedaggica que se esfora por canalizar e re-
orientar os desejos do paciente (a sensualidade e as pulses simbolizadas por
Espiritos inferiores), transferindo-os para um ideal normativo moral, que
os Espritos superiores representam. Aqui, tal como no texto de Bastide, h
um empreendimento baseado em instncias de identificao psicolgicas e
sociais. (AUBRE; LAPLANTINE, 2009, p. 267)
Sidney Greenfield vai tratar das cirurgias do alm e do sistema de cura
por mdiuns, como Edson Queiroz e Jos Carlos de Oliveira, que recebem o
esprito de mdicos falecidos, como o alemo Dr. Fritz ou o italiano Dr. Stams,
e realizam operaes sem assepsia, intervindo no corpo de pacientes com faca,
bisturi ou serra.
Como primeira interpretao, num sentido mais alargado de eficcia sim-
blica, ele contorna a questo objetiva da terapia e suas implicaes e vai focar
no que chama da formao de uma rede de patronagem em torno do mdium,
o que propicia e reproduz o sistema de cura. Fazendo referncia ao sistema do
patronato e clientelismo na tradio da organizao social e poltica do Brasil,
ele desdobra seu argumento para o papel que a figura do mdico desempenhou
neste esquema, como algum que prestava servios teraputicos gratuitos para
a populao carente, garantindo a lealdade destes atendidos para esquemas
polticos tradicionais. (GREENFIELD, 1999, p. 48-50) No caso do mdium Ed-
son Queiroz (que tambm era mdico de profisso), Greenfield se reporta
extensa articulao que ele mobiliza atravs de seus pacientes-dependentes,
tratados gratuitamente como exerccio de caridade, na formao de um grande
esquema assistencial que gerou a instituio criada por ele: a Fundao Esp-
rita Dr. Adolph Fritz. Aqueles mais ricos so instados a contribuir com dinhei-
ro, mantimentos ou voluntariado, os mais pobres apenas com o voluntaria-
do. Cita vrios exemplos, como um casal de proprietrios de restaurantes que
contribuem com comida para a distribuio em favelas; como a doao por
laboratrios farmacuticos de remdios e materiais para abastecer os ambula-
trios onde o mdium consulta; como a intermediao do mdium junto a em-
presrios para fornecimento de empregos ou emprstimos a pessoas carentes,
ou a converso de presentes que ele recebe em gratido pelas curas realizadas
235
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 235 25/07/2013 09:08:53
marcelo ayres camura
(cavalos de raa, mquinas agrcolas e veculos) para gerar fundos destinados
sua Fundao assistencial. Enfim, recursos que consegue intermediar em sua
rede patronal para ajudar as necessidades mdicas, materiais e/ou espirituais
de seus clientes. (GREENFIELD, 1999, p. 52)
Num segundo momento, Greenfield se concentra no aspecto da terapu-
tica e cura esprita, assumindo claramente o paradigma clssico da eficcia
simblica nos rituais de cura. Trazendo baila as teorias dos ritos de pas-
sagem de Arnold Van Gennep e Victor Turner, ele considera que no ritual de
cura esprita os pacientes saem de seu estado sociocultural anterior, onde se
explicita a doena, para alcanar um estado liminar onde experienciam a rea-
lidade simblica do universo esprita com seu corolrio dos planos espirituais,
reencarnao, carma, e retornam a uma situao ps-liminar, reintegrados
no novo mundo social redefinido em termos de suas novas crenas e viso de
mundo. (GREENFIELD, 1999, p. 111) Na fase liminar eles so introduzidos a um
universo simblico narrativa de suas vidas passadas , que explica a ra-
zo do seu sofrimento, e na sua reconduo fase ps-liminar, aps a vivncia
do drama/catarse (encenado pelos mdiuns que representam os papis vividos
em vidas passadas, quando se originou a doena), aderem ao novo modo de
pensar. Citando Thomas Csordas e seu conceito de retrica de transformao
para o caso de cura entre catlicos carismticos, Greenfield (1999, p. 111) diz
que, ao aceitar sua nova viso do mundo, o recm-convertido paciente se sub-
mete e transformado pelo poder dos smbolos e da retrica do grupo.
Num terceiro momento, Greenfield (1999, p. 115) encaminha-se para a incor-
porao de mtodos da cincia mdica que somados ao aspecto simblico ajuda-
riam na hermenutica do fenmeno. Atravs do que chama de combinao de
biomedicina e antropologia comparada, ele invoca os recursos da endocrinolo-
gia, neurologia, imunologia e a psiconeuroimunologia, particularmente do li-
vro The psychobiology of mind-body-healing, de Ernest L. Rossi, que trabalha com a
capacidade do sistema lmbico-hipotalmico da mente de transmitir informa-
es a todo sistema motor e fisiolgico do corpo. Nos encontramos aqui no ter-
reno da sugestionabilidade e da hipnose. Indivduos sob hipnose, segundo essa
corrente, podem alterar o fluxo e suprimento de sangue em partes especficas do
corpo, podem liberar beta-endorfinas redutoras da dor e estimular o sistema
imunolgico do corpo fortalecendo-o na luta contra infeces. (GREENFIELD,
236
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 236 25/07/2013 09:08:53
A crise da eficcia simblica enquanto padro...
1999, p. 129-131) Com a ajuda de uma consultoria tanto de anestesiologistas quan-
to de mgicos profissionais, o autor chega concluso de que os pacientes dos
mdiuns curadores espritas estavam hipnotizados. No entanto, ele reconhece
que no havia uma induo ao estado de hipnose deliberada por parte destes
mdiuns. (GREENFIELD, 1999, p. 132-134) Aqui entraria, ento, a antropologia, ao
trazer os aspectos culturais e simblicos propiciadores deste estado de hipnose
e a ampliao, por Greenfield, da mediao da cultura e do smbolo, do modelo
biomdico da influncia da mente no corpo como fator de cura.
Para o autor, a cultura religiosa brasileira estimula um imaginrio com de-
rivaes muito prticas no cotidiano das pessoas, estas so capazes de ima-
ginar e acreditar no que imaginam. (1999, p. 139) E aqui, recuperando seu ar-
gumento do papel preeminente do mdium curador como lder de uma rede
de patronagem, ele conclui que estes pacientes, na presena destes curadores,
pela fora de sua autoridade simblica, entram num estado de hipnose e mer-
gulham num estado alterado de conscincia com consequncias benficas
na alterao de suas doenas, em geral de carter psicossomtico: O respeito e
o prestgio convencionalmente atribudos ao patrono no Brasil, especialmen-
te se ele [...] um curador, quando combinados com [...] o apelo imaginativo
do brasileiro, contribuem significativamente para aumentar a possibilidade de
um cliente-paciente entrar num estado de alta sugestionabilidade ou transe
hipntico. (GREENFIELD, 1999, p. 90)
Sem serem submetidos a procedimentos formais da induo hipntica,
os pacientes, por partilharem da cosmologia e do imaginrio veiculado pela
ambincia esprita, abraam a realidade alternativa da tradio religiosa do
mdium-curador, internalizando imagens que por sua vez vo influir nos
sistemas de defesa do organismo com repercusses positivas nos problemas
inflamatrios e imunolgicos (1999, p. 140). Em suma, um modelo que combi-
na nas suas hipteses fatores culturais, psicolgicos e fisiolgicos. (GREEN-
FIELD, 1999, p. 143) Neste particular, poderia-se de novo fazer uma remisso ao
texto clssico de Lvi-Strauss da Eficcia simblica.2
2 Aquele, j citado em nota anteiror, que relata a atuao do xam que com o auxlio dos seus espritos proteto-
res, atravs de uma cano, trava uma batalha com a potncia Muu e seus espritos dentro da vagina e do tero
de uma parturiente para liberar o feto, o que o faz exitosamente. (LVI-STRAUSS, 1991, p. 215-236)
237
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 237 25/07/2013 09:08:53
marcelo ayres camura
Pluralidade de interpretaes e indeterminao quanto ao papel
da eficcia simblica
No que tange busca de novas formas para abordar a doena e a cura no es-
piritismo, detecto um complicador que compromete o encaixe perfeito do uso
pleno do smbolo como resoluo do fato emprico da doena. Este complicador
se encontra na pluralidade tanto de interpretaes nativas quanto de interpre-
taes acadmicas concorrentes envolvidas no mesmo empreendimento. No m-
nimo, as querelas e controvrsias entre correntes espritas, como tambm entre
espiritlogos, sobre a melhor interpretao para a cura e a teraputica estabe-
lecem uma tenso entre as distintas verses, o que abala a possibilidade de uma
representao totalizadora que d conta do fenmeno. No caso, no existe mais
um Quesalid que se imponha aos demais feiticeiros e suas magias, tampouco
um Lvi-Strauss com o poder atrativo do estruturalismo cognitivo e simblico
sobre a antropologia, como nos anos 1960-1970.
Numa perspectiva histrica, como demonstrou Giumbelli, que estudou
as estratgias de legitimao do espiritismo em contextos diversos, durante
deterrminados perodos uma corrente logra estabelecer um ponto de vista
hegemnico no espiritismo, como a de Bezerra de Menezes na Federao Es-
prita Brasileira (FEB) no final do sculo XIX e incio do XX, ou o Pacto ureo
de 1949, uma ampla coligao com correntes umbandistas, com ntidas im-
plicaes sobre concepes doutrinrias e suas prticas, as teraputicas in-
cludas. Da mesma maneira, no que diz respeito s teorias acadmicas, o con-
ceito de continuum medinico de Procpio Camargo foi hegemnico nos
anos 1960-1970. No entanto, isto se mantm por uma faixa determinada de
tempo, depois novas querelas e controvrsias abalam o sistema de plausibi-
lidade hegemnico instaurando novas possibilidades interpretativas, seja no
discurso nativo do espiritismo, seja no discurso acadmico que o estuda.
Atualmente em contexto de (ps) modernidade, a crise das grandes narrati-
vas (Lyotard, 1988) e a crise da autoridade etnogrfica (Clifford, 1998), no
que diz respeito disciplina antropolgica, terminam por enfraquecer ou at
desarmar os expedientes de controle e comando das explicaes totalizantes.
No caso da Doutrina Esprita, segundo Anthony DAndrea, o advento de
novas tendncias no campo religioso, destradicionalizadoras, reflexivistas,
238
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 238 25/07/2013 09:08:53
A crise da eficcia simblica enquanto padro...
expressivistas e plurais, impulsionam a fragmentao do espiritismo. Por seu
lado, a ortodoxia esprita representada na Federao Esprita Brasileira (FEB)
continua a oferecer uma orientao padronizadora baseada estritamente na
obra da codificao kardequiana. Procedimento que parece no estar mais
antendendo s demandas existenciais e concretas de segmentos emergentes
da classe mdia sofisticada no Brasil. Presses reflexivistas e as necessidades
expressivistas de indivduos com tal inscrio social se chocam com o tradi-
cionalismo e intelectualismo das instituies kardecistas oficiais. (DANDREA,
1996, p. 205)
Por isso, segundo o autor, mais e mais pessoas simpatizantes do kardecis-
mo, pass[am] a incorporar prticas e representaes de outros sistemas sim-
blicos, notadamente os das vertentes ligadas ao movimento New Age (espiri-
tualismo, esoterismo, orientalismo, paracincias...). (DANDREA, 1996, p. 205)
Isto tambm pode ser exemplificado no livro de Jacqueline Stoll (2003,
p. 199-277), quando se refere ao afastamento do mdium Luiz Gasparetto da
tradio esprita e sua aproximao com a rede New Age.
Passo agora a algumas consideraes sobre a questo da diversidade nas ex-
plicaes espritas e acadmicas sobre a cura e a teraputica que derivam numa
zona de suspenso em termos de uma interpretao satisfatoriamente conclusiva.
Em trabalho anterior apresentei como demonstrao da diversidade de
interpretaes que abalam uma plausibilidade monista no sistema doutrin-
rio esprita a tenso que o atravessa quanto etiologia das doenas espiritu-
ais, entre uma nfase no carma e outra na cura. (Camura, 2000, p. 111-127)
Para mim, isto se expressa na clivagem que se d no movimento esprita brasi-
leiro entre duas vertentes. Uma que chamei de vertente espiritualista-doutri-
nria, que imersa privilegiadamente na interpretao filosfica-teolgica da
Doutrina Esprita e se concentra primordialmente na hermenutica do texto
doutrinrio face s situaes de desequilbrio e doenas vividas pelos indiv-
duos, explicando os seus infortnios e exortando-os conduta moral eleva-
da e busca de reforma interior como forma de enfrent-los no caminho da
evoluo espiritual, no que poderia chamar-se de espiritismo de teodiceia. E
outra, de vertente espiritualista-cientfica, que privilegiaria um espiritismo
experimental, baseado na busca de provas laboratoriais empricas (dos fluidos,
vibraes, energias, planos e faixas espirituais mais elevadas), resultante de
239
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 239 25/07/2013 09:08:53
marcelo ayres camura
processos de interveno sistemtica, logo voltado ao convencimento da ci-
ncia mdica acadmica das vantagens da incoporao da dimenso espiritual
no seu corpo de conhecimentos.
Isto no quer dizer que no plano doutrinrio e no imaginrio dos espritas
estas duas dimenses no se acomodem e se complementem, embora guar-
dando caractersticas prprias: o lugar da doena como questo inexoravel-
mente moral subordinada lei espiritual da causa-efeito (carma), mas tambm
o papel de uma terapia objetiva baseada na diagnose para detectar o desencaixe
entre o corpo fludico e o corpo material por pertubaes energticas e fludi-
cas, com seu tratamento por passes magnticos e cura.
No plano das teorias antropolgicas, a busca por uma interpretao sim-
blica, social ou cultural (que se esquiva da questo crucial para os nativos, da
preciso de sua demonstrao de cura) tambm aponta para uma diversidade
de nfases. Estas (que escolhi), do mesmo modo que aquelas entre os espritas,
tambm se repartem ora numa dimenso teolgica-moral, ora em questes
do campo mdico-cientfico. Menciono, ento, os dois exemplos.
De um lado a formulao simblico-culturalista de Donald Warren de que o
Dr. Bezerra de Menezes, precursor do espiritismo brasileiro, influenciado pela
crena generalizada na cultura brasileira do poder taumatrgico de entidades
superiores (almas, santos, etc), teria colocado a nfase do espiritismo no Bra-
sil na sua capacidade de cura miraculosa promovida pelos desgnios divinos e
Espritos superiores, por intermdio dos caridosos mdiuns. Segundo Warren,
Bezerra de Menezes, ao eleger a desobsesso como o mal por excelncia que
afligia as populaes conflitadas que a ele acorriam, faz com que o espiritismo
entre em consonncia com a crena difusa do povo brasileiro que atribua as
origens de seus males influncia das almas penadas e encostos. Enfim,
Bezerra teria adaptado o espiritismo matriz cultural/religiosa brasileira, com-
patibilizando a lei frrea da causa-efeito contingncia da cura religiosa, que
podia revog-la mais pelo poder benfasejo dos Espritos superiores do que pela
renovao moral do indivduo enfermo. (WARREN, 1984, p. 56-83)
De outro lado est a hiptese simblico-sociolgica de Sidney Greenfield,
que se baseia na preeminncia que o espiritismo confere ao campo mdico-
-cientfico. Este trabalho de Greenfield demonstra a busca de legitimao pelo
espiritismo de suas crenas e prticas diante da cincia mdica acadmica-
240
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 240 25/07/2013 09:08:53
A crise da eficcia simblica enquanto padro...
-formal. Estudando a Associao Mdica Esprita de So Paulo (AMESP), ele
remarca que o objetivo da entidade esprita a aceitao de suas formas de
tratamento pela comunidade mdica brasileira e a importncia de tratar o es-
prito como um modo alternativo de cincia mdica, a medicina da alma.
(GREENFIELD, 1992, p. 138-142)
A pluralidade destas teorias, diferentes entre si, podem conduzir a uma si-
tuao de indeterminao, onde, na condio de validade de todas, o paradigma
da eficcia simblica tende a se enfraquecer enquanto mecanismo heurstico
de referncia.
Por outro lado, pode ocorrer de todas elas lograrem conciliar-se em tor-
no do paradigma da eficcia simblica, como exemplos plurais de um mesmo
princpio: o de que a verdade do evento em questo, no caso doena e cura es-
prita, no est no evento em si mesmo, mas no smbolo que remete s outras
instncias, estas sim realmente explicativas.
Neste particular, pode ocorrer algo de muito mais significativo para a crise
deste paradigma, que sua banalizao pela alta frequncia de respostas previs-
veis aos desafios interpretativos lanados pelo fenmeno.
Se no passado houve a necessidade de firmar a prevalncia de condicio-
nantes sociais e culturais quando se tratava de estudos de religio nas Cincias
Sociais brasileiras, face a contaminaes fenomenolgicas ou teolgicas,
hoje a insistncia neste padres rotineiros s leva ao seu descrdito. Urge novas
experimentaes!
Referncias
AUBRE, Marion; LAPLANTINE, Franois. A mesa, o livro e os espritos: gnese,
evoluo e atualidade do movimento social esprita entre Frana e Brasil. Macei:
EdUFAL, 2009.
BASTIDE, Roger. Le spiritisme au Brsil. Archives de Sociologie des Religions. n. 24, p.
3-16, 1967.
CAMARGO, Cndido Procpio. Religies Medinicas no Brasil. In: _________ (Org.).
Catlicos, Protestantes e Espritas. Petropolis: Vozes, 1973. cap. 4, p. 159-184.
CAMARGO, Cndido Procpio. Kardecismo e Umbanda. So Paulo: Pioneira, 1961.
CAMURA, Marcelo Ayres. Entre o crmico e o teraputico: dilema intrnseco ao
espiritismo. Rhema, v. 6, n. 23, p. 113-128, 2000.
241
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 241 25/07/2013 09:08:53
marcelo ayres camura
CLIFFORD, James. A experincia etnogrfica: antropologia e literatura no sculo XX.
Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1998.
DANDREA, Anthony. O Self Perfeito e a Nova Era: individualismo e reflexividade em
religiosidades ps-tradicionais, 1996. Dissertao (Mestrado em Sociologia), IUPERJ,
Rio de Janeiro, 1996.
GIUMBELLI, Emerson. O cuidado dos mortos: uma histria da condenao e
legitimao do espiritismo. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1997.
GREENFIELD, Sidney. O Corpo como casca descartvel: as cirurgias do Dr. Fritz e o
futuro das curas espirituais. Religio e Sociedade, v. 16, n. 1-2, p. 138-142, 1992.
GREENFIELD, Sidney. Cirurgias do Alm: pesquisas antropolgicas sobre curas
espirituais. Petropolis: Vozes, 1999.
LYOTARD, Jean-Franois. O Ps-Moderno. Rio de Janeiro: Jos Olympio, 1988.
LVI-STRAUSS, Claude. A Eficcia Simblica. In: _________. Antropologia Estrutural. Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1991. p. 215-236.
_________. O Feiticeiro e sua Magia. In: _________. Antropologia Estrutural. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1991. p. 193-213.
SEGATO, Rita Laura. Um paradoxo do relativismo: discurso racional da antropologia
frente ao sagrado. Religio e Sociedade, v. 16, n. 1-2, p. 114-135, 1992.
STOLL, Sandra Jacqueline. Espiritismo Brasileira. So Paulo: EdUSP, 2003.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. O nativo relativo. Mana, v. 8, n. 1, p. 113-148, 2002.
WARREN, Donald. A terapia esprita no Rio de Janeiro por volta de 1900. Religio e
Sociedade, Rio de Janeiro, v. 11, n. 3, p. 56-83, 2002.
242
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 242 25/07/2013 09:08:53
Msica e possesso
Para alm da eficcia simblica?
Xavier Vatin
Charivari, tinido discreto de sino, tambores, gritos, encantaes, cantos res-
ponsoriais, polifnicos, conjuntos instrumentais de todo tipo: se a msica,
sob as mais diversas formas sonoras, participa da desordem ritual, para (re)
orden-la e reger comportamentos humanos aparentemente desprovidos de
sentido ou fenmenos capazes de colocar em perigo certos indivduos, ou a
totalidade do grupo. Substrato sonoro das expresses corporais e coreogrfi-
cas dos xams e dos possudos, a msica sincroniza as aes rituais, estrutura
as cerimnias, ritma a encenao dos mitos e acompanha a viagem ritual do
xam como a vinda dos espritos possessores.
Entre ordem e desordem, uma dialtica culturalmente codificada confere
msica um valor, uma funo e um poder percebidos como mgicos e at
mesmo teraputicos pelos adeptos de diversos cultos. Em tais circunstncias,
entre efeitos catrticos, mgicos e teraputicos do som musical, estaramos
aqum, no mago ou alm da eficcia simblica, no sentido de Claude Lvi-
-Strauss (1958)? Esta parece ser uma questo crucial para o etnomusiclogo
confrontado aos cultos de possesso e ao xamanismo.
A natureza das relaes da msica, da possesso e do xamanismo j foi
objeto de numerosos estudos em diferentes campos cientficos. A obra de
Gilbert Rouget (1990) permanece at hoje uma referncia na rea da etnomu-
sicologia. Durante muito tempo, acreditou-se e alguns continuam acredi-
tando que msica, possesso e xamanismo pertenceriam exclusivamen-
te a um universo inefvel e inexplicvel, o da subjetividade, do afeto e das
emoes, universo este, portanto, irredutvel a qualquer abordagem cientfi-
ca. Ora, impe-se constatar que essas manifestaes, profunda e universal-
mente humanas, so sempre regidas por um conjunto de regras complexas,
243
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 243 25/07/2013 09:08:53
xavier vatin
rigorosas e constrangedoras explcitas ou, no caso frequente das civiliza-
es de tradio oral, implcitas. No Ocidente, crenas religiosas e precon-
ceitos etnocntricos quase sempre levaram a assimilar a possesso a uma
manifestao demonaca, psicopatolgica ou, ento, da ordem do simulacro.
Para a antropologia, no entanto, a possesso nas sociedades extra-europeias
um tema cuja pregnncia parece particularmente sintomtica de seu de-
saparecimento quase total do mundo ocidental ao longo do sculo XX. Seu
reaparecimento no incio do sculo XXI, no contexto da globalizao, pare-
ce igualmente significativo de sua universalidade latente, expresso de uma
necessidade profunda da humanidade de ampliar e ultrapassar os limites da
conscincia ordinria.
Cdigo universal ou universalidade da codificao?
De fato, da mania grega ao wajd sufi, do candombl baiano ao xamanismo
siberiano, msica, possesso e xamanismo compem, conjuntamente, segun-
do diversas modalidades, o repertrio meticulosamente codificado de uma
humanidade em busca perptua de experincia mstica. Sua associao muito
frequente no deve, contudo, nos levar hiptese errnea, em nossa opinio
de uma natureza intrnseca e necessria de suas relaes: a relao de induo
que existe entre msica e possesso fundamentalmente de ordem simblica
e no mecnica, condicional e no (somente) condicionada, extrnseca e no
(somente) intrnseca. Para Roger Bastide (1972, p. 96, traduo nossa), O transe
africano ou afro-americano uma linguagem (ao mesmo tempo motora e vo-
cal) que se desvenda segundo um certo cdigo; tem seu vocabulrio, suas regras
gramaticais e sua sintaxe.1 nesta perspectiva bastidiana que nos inscrevemos.
Tomemos o exemplo dos gritos frequentemente emitidos pelos possudos:
em muitos cultos de possesso, estes constituem um elemento bastante signi-
ficativo da linguagem vocal qual Bastide se refere. Para alm de seus efeitos
catrticos, o grito se inscreve, como a dana, em um espao mtico fortemente
estruturado que atribui a este um significado particular. O sistema da possesso
1 La transe africaine ou afro-amricaine est un langage ( la fois moteur et vocal) qui se dcrypte selon un cer-
tain code; il a son vocabulaire, ses rgles grammaticales et sa syntaxe
244
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 244 25/07/2013 09:08:53
msica e possesso: para alm da eficcia simblica?
transcende gritos aparentemente desarticulados e gestos aparentemente des-
providos de sentido, reunindo-os em um conjunto semntico coerente: cantos,
ritmos, danas e gritos participam do mesmo discurso simblico. O grito do
possudo uma manifestao significativa deste thtre sacr que seria, para
Michel Leiris (1995) ou Antonin Artaud (1995), o culto de possesso. O rito so-
cializa aquilo que o homem tem certamente de mais ntimo, trazendo-o dire-
tamente de volta para sua animalidade primordial. O grito de homem-animal
se torna, atravs de um renascimento simblico ligado ao processo inicitico, o
do homem-deus, um grito carregado de um sentido e uma funo simblicos.
Condicionamento ritual e musical
A respeito dos cultos africanos e afro-americanos, Pierre Verger compara o pos-
sudo, aps a iniciao, a uma placa fotogrfica: ele carrega em si, em estado
latente, uma imagem do deus que foi plantado na sua cabea e que vai se ma-
nifestar durante as cerimnias rituais, cujo dispositivo agiria como um reve-
lador fotogrfico. O iniciado, porm, ignora a presena desta imagem, pois ele
esqueceu tudo aquilo que aconteceu ao longo de sua iniciao. Durante o ritual,
um desencadeador cultural neste sentido que a msica parece exercer a
sua funo litrgica e seu poder simblico, atravs de cantos ou ritmos espec-
ficos provocar nele, sob certas condies, os gestos e condutas associados
imagem inconsciente da divindade. Esta construo de uma personalidade se-
gunda, cujas manifestaes poderiam ser desencadeadas automaticamente a
partir de certos stimuli, implicaria em um condicionamento de tipo pavloviano.
A msica serviria assim para veicular stimuli sonoros constitudos pelas fr-
mulas meldicas e rtmicas associadas a determinada divindade. Tais stimuli,
existentes na cultura sob a forma de repertrios musicais, seriam inscritos e
gravados nos iniciados para desencadear, aps a aquisio de hbitos estereo-
tipados, respostas automticas de sua parte.
No entanto, essa teoria do condicionamento inicitico no pode explicar por
si s a natureza das relaes da msica e da possesso. A observao minuciosa
no campo mostra, de fato, que a audio das devises que deveriam, segundo tal
teoria, funcionar como stimuli, desencadeando necessariamente a mesma res-
posta, no desencadeia sempre a possesso dos iniciados. O desencadeamento
245
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 245 25/07/2013 09:08:53
xavier vatin
da possesso depende manifestamente de vrios fatores contextuais, tais como
o respeito a proibies alimentares ou sexuais antecedendo a cerimnia, ou ter o
corpo limpo o que, para uma mulher, por exemplo, significa no estar mens-
truada. Para que a possesso de um determinado iniciado ocorra, necessrio,
portanto, que certas condies externas sejam devidamente reunidas; uma vez
reunidas, tambm inegvel que certos elementos, de naturezas diversas so-
nora, visual, olfativa possam ser qualificados de desencadeadores da pos-
sesso. Nesta perspectiva, poderamos afirmar que a msica constitui, de certo
modo, um desencadeador condicional.2
Msica e possesso nos candombls da Bahia
Os candombls da Bahia foram objeto de inmeros estudos em diversas reas do
conhecimento: antropologia, sociologia, psicologia, etnomusicologia, entre ou-
tras. Contudo, o fenmeno da possesso permanece bastante controverso. As te-
orias at ento formuladas, marcadas por um etnocentrismo de origem europeia
e por diversas correntes tericas evolucionismo, culturalismo, funcionalismo,
estruturalismo , produziram explicaes muitas vezes unvocas e parciais
quanto sua origem, sua natureza e sua induo, explicaes estas cuja soma
aponta para a complexidade de um fenmeno que s uma perspectiva transdis-
ciplinar conseguir, talvez, desmistificar e decodificar. No caso presente, tenta-
remos ver como se elaboram, nos candombls da Bahia, as relaes da msica e
da possesso, segundo o contexto ritual e o tipo de entidade possessora.
No candombl, no so os homens que visitam os habitantes do mundo
invisvel como seria no caso do xamanismo mas, pelo contrrio, espri-
tos divinizados que descem terra, apoderando-se dos iniciados ritualmente
preparados para receb-los. No entanto, veremos que tal viso dicotmica do
xamanismo e da possesso pode, do ponto de vista etnomusicolgico, levar a
certo impasse tipolgico quando, por exemplo, se procura introduzir uma
oposio binria entre musiquant (musicante) e musiqu (musicado),
para retomar a tipologia elaborada por Rouget (1990).
2 Vale notar, a este respeito, que Bastide (1972), no final de sua obra, volta sobre o conceito de condicionamento
inicitico ao vislumbrar a existncia de reflexos condicionais.
246
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 246 25/07/2013 09:08:54
msica e possesso: para alm da eficcia simblica?
A possesso, em seu contexto ritual,3 est intimamente ligada msica e
dana, tida muitas vezes como seu resultado direto. Segundo Rouget (1990,
p. 89, traduo nossa), Um rito de possesso uma arquitetura do tempo que
compreende diferentes fases as quais so associadas diferentes msicas.4
Rouget afirma tambm que o possudo no o musiquant de seu prprio tran-
se e acrescenta: A lgica do sistema requer, fundamentalmente, que o posses-
so no seja nem msico, nem musiquant, mas musiqu.5 (ROUGET, 1990, p. 215,
traduo nossa.)
Voltaremos a esta afirmao, ao tentar dar conta da diversidade dos com-
portamentos dos possudos, de uma nao6 de candombl para a outra, de um
tipo de entidade para o outro: orix, vodum, inquice, caboclo ou exu.
Os limites da abordagem estruturalista: pluralismo ritual e comportamental
De uma nao de candombl para a outra, de uma entidade para a outra, o com-
portamento do adepto antes, durante e depois da possesso extremamente
polimorfo. Mesmo se cada iniciado manifesta certo grau de idiossincrasia,
pode-se, contudo, evidenciar esteretipos comportamentais que caracterizam
cada culto e cada tipo de entidade. Tais modalidades comportamentais so
geralmente agrupadas, referindo-se s categorias empregadas por Rouget, sob
a ampla denominao de transe de possesso, durante a qual o possudo
apenas o musiqu de seu transe opondo-se, assim ao xam musiquant ,
tendo a dana como nico modo de expresso.
Ora, um inventrio detalhado desses comportamentos faz surgir a di-
versidade das relaes entre a msica e a possesso, colocando parcial-
mente em xeque uma perspectiva globalizante de inspirao estruturalista.
3 Veremos que no necessariamente o caso em um contexto domstico.
4 Un rituel de possession est une architecture du temps qui comporte diffrentes phases auxquelles sattachent
diffrentes musiques.
5 La logique du systme veut que, foncirement, le possd ne soit ni musicien, ni musiquant, mais musiqu.
6 A nao, no candombl, um termo que designa as supostas origens tnicas e culturais de um determinado
terreiro. Existem diferentes naes de candombl, entre as quais permaneceram, at hoje, na Bahia: as naes
Ketu, Nag e Ijex, de origem lingustica yoruba, cultuam os orixs; a nao Jje, de origem lingustica fon,
cultua os voduns; as naes Angola e Congo, de origem lingustica bantu (essencialmente kimbundu e kikon-
go), cultuam os inquices (forma aportuguesada da palavra bantu nkisi). No caso presente, abordaremos a trs
naes principais: Ketu, Jje e Angola.
247
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 247 25/07/2013 09:08:54
xavier vatin
A mesma pessoa, segundo o esprito que ela encarna, pode se comportar, de
uma cerimnia para a outra, ou at durante a mesma cerimnia, quer seja
em musiquant de seu prprio transe, assumindo, portanto, um comporta-
mento musical muito ativo, quer seja exclusivamente em musiqu, tendo,
de fato, a dana como expresso por excelncia. Apesar da dificuldade de
dar conta desta diversidade, uma descrio minuciosa permite apreend-la.
Acompanhemos, portanto, a possesso em seu contexto cerimonial, distin-
guindo diferentes etapas: em primeiro lugar, o desencadeamento da posses-
so, identificando seus desencadeadores potenciais; em segundo lugar, o
comportamento do possudo; por fim, abordaremos o contexto domstico
da possesso.
Os desencadeadores da possesso: tentativa de tipologia
Para que a possesso de um iniciado advenha, numerosas condies extrn-
secas devem ser reunidas; uma vez reunidas, , contudo, inegvel que certos
elementos, de naturezas diversas sonora, visual, olfativa, notadamente ,
possam ser qualificados de desencadeadores da possesso. Para os oficiantes,
trata-se, portanto, de chamar o santo, recorrendo a um ou vrios desses de-
sencadeadores elencados abaixo.
Desencadeadores sonoros
1) Uma ou vrias cantigas especficas: certas cantigas podem ser utilizadas
para desencadear a possesso em um, vrios ou at em todos os iniciados
ao mesmo tempo. Essas cantigas, altamente sacralizadas, so conhecidas
como cantigas de fundamento ou cantigas de chamar o santo. Encon-
tram-se nas trs principais naes de candombl (Ketu, Jje e Angola), po-
rm seus usos e efeitos variam sensivelmente de uma nao para a outra.
Na nao Ketu, essas cantigas constituem um vasto repertrio e a maioria
delas associada a uma divindade especfica; deste modo, quando uma
cantiga de fundamento cantada, so prioritariamente os iniciados cujo
santo de cabea (orix principal) est sendo chamado que podem res-
ponder, ou seja, entrar em transe. As possesses se sucedem, portanto,
248
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 248 25/07/2013 09:08:54
msica e possesso: para alm da eficcia simblica?
segundo a ordem dos orixs invocados durante o xir (primeira parte do
ritual, destinada a saudar e chamar, um a um, os orixs). Na nao Ango-
la, uma nica cantiga escolhida pelo cantor solista entre um repertrio
mais restrito de chamadas basta para desencadear a possesso em to-
dos os iniciados aptos a entrar em transe em uma ocasio determinada.7
Portanto, nas casas de Angola, todas as possesses costumam ocorrer ao
mesmo tempo, no final da primeira parte da festa. Na nao Jje, as pos-
sesses ocorrem geralmente antes da cerimnia na manh que antece-
de, durante um rito reservado aos membros da comunidade de tal modo
que os iniciados j chegam possudos no barraco no momento da festa.
Luiza Franquelina da Rocha, mais conhecida como Gaiacu Luiza, saudosa
me-de-santo da nao Jje Mahi, na cidade de Cachoeira, no Recncavo
da Bahia, afirmava a este respeito que uma s palavra pronunciada por ela
era suficiente para desencadear a possesso nos iniciados do seu terrei-
ro fato este que vem reforar a teoria do condicionamento inicitico. No
entanto, nesta mesma nao, certas cantigas tambm tm o efeito de indu-
zir a possesso. No caso das festas para os caboclos espritos de ndios
literalmente reinventados pela cultura religiosa afro-brasileira existem
cantigas de chamada, que podem ser entoadas pelo solista ou por um ca-
boclo j manifestado, para provocar a vinda de outro(s) caboclo(s) pois,
como veremos, os caboclos cantam e so, portanto, musiquants de seu
prprio transe, aproximando tal prtica do modelo xamnico.
2) Um ou vrios toques (frmulas rtmicas) especficos: esses toques, execu-
tados sem canto, so chamados toques de fundamento. A nao Ketu pos-
sui vrios toques de fundamento, cada um associado a um orix especfico.
A nao Jje possui um toque, muito famoso, chamado adarrum. Raramente
executado, este toque de fundamento tem por efeito desencadear de forma
extremamente eficaz a possesso de todos os iniciados presentes na ocasio,
independentemente de suas respectivas divindades e das condies geral-
mente necessrias para a ocorrncia da possesso. Quanto nao Angola,
esta possui uma frmula rtmica chamada barravento, usada geralmente para
7 Uma chamada desta natureza foi gravada em contexto ritual no CD Candombl de Angola. Musique Rituelle
Afro-Brsilienne. (VATIN, 1999, faixa 7)
249
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 249 25/07/2013 09:08:54
xavier vatin
acompanhar as cantigas, mas que, tocada sem canto em circunstncias es-
peciais, tem como efeito desencadear a possesso em numerosos iniciados,
assumindo, portanto, o papel de toque de fundamento.
3) Idiofones8 especficos: no contexto especfico do candombl, a maioria dos
idiofones utilizados constituem essencialmente instrumentos rituais que
se situam no limiar do conceito de msica. Em nossa opinio, nesta zona
fronteiria entre natureza intrnseca e extrnseca das relaes da msica e
da possesso que se pode apreender, do ponto etnomusicolgico, o conceito
de eficcia simblica.
a) O sino sagrado adj: este sino, cujo uso geralmente reservado me ou ao
pai de santo, encontra-se nas trs principais naes de candombl, para cha-
mar orixs, voduns e inquices; seu poder de induo estabelecido durante a
iniciao. Sacudido insistentemente no ouvido de um iniciado, o adj induz
frequentemente a possesso; em seguida, este serve de guia sonoro ao possu-
do, pois a maioria das possesses pelas divindades de origem africana ocorre
de olhos fechados. Segundo Nancy de Souza, filha de santo do Terreiro Il Ax
Op Aganju e membro da Fundao Pierre Verger, o som do adj ligado an-
cestralidade e a Oxal, pai de todos os orixs. Seria este, portanto, o motivo
deste instrumento sagrado possuir o poder de chamar todos os orixs. Nancy
explica como este instrumento, de alta eficcia simblica, desencadeia, nela, a
possesso: O som do adj me desconcerta, me deixa sem rumo. Ele provoca
um mal estar bem maior do que se fosse alto. Este som ligado ao silncio. E
quanto mais lento, mais baixo, pior!
b) O sino g: instrumento consagrado s divindades Omolu, Nan e Oxumar, o
g, quando tocado na casa de uma desses trs divindades, tem por efeito de-
sencadear a possesso dos seus respectivos filhos e filhas. De origem Jje, este
instrumento era tocado para os Reis do Daom.
c) O ar: esses dois chifres de bfalo, entrechocados, so exclusivamente usados
durante a festa de Oxossi, na qual tm por efeito desencadear a possesso nos
iniciados de Oxossi, Ogum, Ians e Oxum. O ar tradicionalmente utiliza-
do pelo afikod, homem consagrado ao culto de Oxossi. Proveniente da nao
Ketu, s vezes usado em terreiros pertencentes a outra nao.
d) O kadakor: essas finas sinetas de ferro, consagradas a Ogum, desencadeiam
a possesso nos iniciados de Ogum e Oxossi. O axogum, homem encarregado
dos sacrifcios rituais, habilitado a tocar este instrumento, na casa de Ogum,
durante certos ritos privados.
8 Diz-se de um instrumento musical cujo som provm da sua prpria vibrao.
250
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 250 25/07/2013 09:08:54
msica e possesso: para alm da eficcia simblica?
e) O xer: este chocalho de cobre, consagrado a Xang, costuma desencadear a
possesso nos filhos e filhas de Xang, na ocasio de suas festas anuais.
No caso das possesses em que entram em ao esses desencadeadores
sonoros, vale ressaltar que os adeptos encontram-se sempre em situao de
musiqus exceto, como vimos, no caso de certas cantigas de chamada, nas
festas de caboclos. Esses desencadeadores so usados por pessoas que, prova-
velmente, no sero possudas, pelo menos neste momento especfico do ritual.
Outros tipos de desencadeadores
1) Projeo de pipoca: na nao Ketu, durante o olubaj, cerimnia em que
servida assistncia a comida de Omulu (divindade masculina das doen-
as contagiosas, notadamente a varola, da qual se representa acometido),
a projeo de pipoca que o povo-de-santo chama de flor de Omolu, pois
dizem que acalma e refresca o corpo quente e coberto de feridas dele de-
sencadeia a possesso nos filhos de Omolu, Nan e Oxumar, pois os trs
so originrios da nao Jje. Este efeito desencadeador estabelecido du-
rante a iniciao, na ocasio de ritos secretos. Na nao Angola, durante as
festas para a divindade Tempo, cujas roupas rituais, muitas vezes usando
palha, se parecem com as de Omolu, a projeo de pipoca frequente, tal
como o seu efeito desencadeador, especificamente no caso dos filhos de
Tempo e Insumbo (equivalente, na nao Angola, a Omolu).
2) Asperso de perfume: nas trs naes estudadas (Ketu, Jje e Angola), fre-
quente que membros da comunidade borrifem com perfume9 as divinda-
des femininas, no momento em que estas penetram no barraco, vestidas
com suas suntuosas roupas rituais. Este cheiro forte teria por efeito, se-
gundo alguns iniciados, estimular a possesso de certas pessoas presentes
na ocasio, principalmente filhos ou filhas dessas divindades.
3) Pemba assoprada no rosto de um iniciado: a pemba um p argiloso, geral-
mente branco neste caso, associado a Oxal , usado em todas as naes
de candombl, cujos usos rituais so diversos. Durante as festas de caboclos,
9 O perfume frequentemente misturado com flores e arroz. Neste caso, a mistura distribuda aos presentes
antes da chegada das divindades.
251
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 251 25/07/2013 09:08:54
xavier vatin
como em certas cerimnias da nao Angola, usada no incio do ritual
para abrir a cerimnia e expurgar o barraco da presena eventual de es-
pritos indesejveis. Assoprada no rosto dos membros da comunidade, dos
convidados e dos visitantes, ela tem, s vezes, o efeito de chamar o santo
de alguns deles.
4) Projeo (barrufada) de bebida alcolica (cerveja e cachaa notadamente):
durante as festas de caboclos e exus, frequente que um caboclo ou um exu
tome cerveja quente ou cachaa na garrafa e a projete10 no rosto de pessoas
susceptveis a receber um caboclo ou um exu, o que, neste caso, tem o efeito
muito eficaz de desencadear a possesso.
5) Abrao de um possudo: nas trs naes estudadas, quando as divindades
vm danar no barraco, elas tm por costume abraar um a um os mem-
bros da comunidade, os convidados e certos visitantes. Para o povo-de-
-santo, este abrao permite a circulao do ax, podendo, portanto, desen-
cadear imediatamente a possesso de certas pessoas da assistncia. Esta
prtica tambm frequente nas festas para os caboclos e os exus.
6) Viso de um possudo executando gestos particulares: a possesso pelas di-
vindades de origem africana obedece a uma codificao ritual e mitolgica
muito rigorosa. Uma vez possudos por suas respectivas divindades, os ini-
ciados devem cumprir um conjunto de danas caracterizadas por gestos co-
reogrficos codificados e altamente sacralizados. Em certas cerimnias, por
exemplo, os filhos de Oxumar lembrando que esta divindade associada
serpente, o Dan dos Fon do Daom abaixam-se at o cho, enchem a boca
de gua, preliminarmente posta em uma bacia no meio do barraco, levan-
tam-se lentamente, imitando as contores da serpente e projetam (barru-
fam) esta gua na frente dos presentes, geralmente muito impressionados
por esta singular coreografia sagrada. A viso desta cena relativamente rara
suficiente para desencadear a possesso de certos iniciados. De modo se-
melhante, o banho de Oxum momento em que Oxum, deusa da beleza e
dos rios, est tomando seu banho, contemplando sua beleza no seu espelho e,
10 A bebida alcolica vaporizada na Bahia, o termo utilizado barrufar , prtica comum em vrios rituais
de possesso, notadamente nos cultos afro-cubanos.
252
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 252 25/07/2013 09:08:54
msica e possesso: para alm da eficcia simblica?
tal como a Vnus anadiomena, sai das guas e se levanta de forma extrema-
mente sensual tem por efeito desencadear a possesso de certos iniciados,
notadamente de Ogum, Oxossi e Xang, orixs masculinos que, segundo as
lendas, sucumbiram aos seus irresistveis encantos. Nancy de Souza evoca
a este respeito a ideia de um transe emocional, que seria suscitado por um
gesto particular ou um canto especfico. Segundo ela, seu desencadeamento
depende tambm do grau de ateno da pessoa, pois estaria requerendo um
acmulo de energia suficiente para provocar este tipo de transe. Nancy men-
ciona tambm a existncia de um transe esttico sugerindo, portanto, que
a emoo suscitada comportaria uma dimenso esttica: a beleza da cena
ou do canto que, provocando uma emoo muito forte, estaria desencadean-
do a possesso. Tal tipo de transe aproxima o candombl de outras tradies
rituais, a exemplo do sufismo, movimento de ascese mstica do islamismo
que se espalhou, sobretudo, do sculo IX ao sculo XII, pelo Oriente Mdio e
que continua vivo at hoje. Vale ressaltar que Nancy de Souza a nica adepta
do candombl com a qual conseguimos abordar, ao longo dos 18 anos em que
pesquisamos os candombls na Bahia, o assunto da possesso de maneira to
frutfera.11 Pois, de fato, quando se trata de abordar a vivncia da possesso, a
regra da amnsia ritual ou talvez, mais precisamente, o dever de amn-
sia que segue a possesso torna a investigao difcil ou at impossvel. Vale
ressaltar que a amnsia ps-transe parece ser uma caracterstica comum
aos cultos de possesso e s teorias micas do sistema da possesso (mesmo
que raras excees possam ser registradas): a amnsia vem confirmar a vera-
cidade da possesso.
7) Ingesto de jurema: a jurema uma planta cujas folhas so utilizadas para
preparar uma bebida do mesmo nome, tida por fracamente alucingena
porm, conforme mostra uma observao minuciosa, fortemente ente-
gena. Muito apreciada pelos caboclos, sua composio exata varia de um
11 A respeito de Nancy de Souza, vale ressaltar seu duplo pertencimento ao candombl e Fundao Pierre
Verger, lugar onde tem acesso, h mais de 20 anos, a uma imensa literatura sobre os assuntos do seu interesse:
cultos de possesso na frica, no Brasil, em Cuba, no Haiti, entre outros. Nancy tem sido, ao longo de 15
anos de pesquisas, uma inestimvel colaboradora, fonte extraordinria de dados etnogrficos, cujo discurso,
contudo, deve ser constantemente analisado na perspectiva deste duplo pertencimento e deste duplo saber,
tradicional e acadmico.
253
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 253 25/07/2013 09:08:54
xavier vatin
terreiro para o outro. Durante as festas, os caboclos manifestados so
levados para sua cabana verdadeira cabana edificada na ocasio da fes-
ta, decorada com inmeras frutas e diversos smbolos de procedncia real
ou supostamente indgenas na frente da qual eles bebem a jurema, geral-
mente servida em uma cabaa, e a oferecem aos presentes. Em certos casos,
a ingesto por uma pessoa ainda no manifestada desencadeia imediata-
mente a possesso, anunciando assim a chegada de um novo caboclo. Note-
mos, contudo, que a ingesto e a possesso so simultneas (a pessoa entra
em transe quando a jurema entra em contato com seus lbios), simultanei-
dade esta que infirma a hiptese segundo a qual a substncia alucingena
estaria na origem da possesso. Portanto, a induo de natureza altamen-
te simblica e no meramente fisiolgica, fruto de uma ao entegena e no
alucingena. Estamos, neste caso, no mago da eficcia simblica.
O comportamento do possudo
A possesso, descrita pela expresso verncula estar de santo, quando se trata
das divindades de origem africana (orixs, voduns e inquices), assume formas
diversas segundo o tipo de entidade. Pode-se dizer, preliminarmente, que o
comportamento das divindades de origem africana se diferencia nitidamente
da dos caboclos ou dos exus. A possesso pelos orixs, voduns ou inquices es-
sencialmente um transe do corpo, para retomar a expresso de Roberto Motta
(1990). Cada divindade expressa e mima pela dana as lendas a ela associadas.12
Isto no significa que as divindades de origem africana no se expressem de
forma sonora; todas se expressam vocalmente atravs do grito (vernaculamente
chamado k ou il). Neste tipo de possesso, os possudos agem principalmente
como musiqus, no sentido em que cantos e ritmos de atabaques acompanham
sempre suas danas. Eles mantm, geralmente, os olhos fechados e falam so-
mente em ocasies raras, notadamente para transmitir mensagens e avisos im-
portantes para certas pessoas ou para o grupo.
12 A s coreografias rituais se diferenciam de forma mais ou menos patente de uma nao de candombl para a
outra. Vale notar que essas coreografias, ricas e complexas, ainda no foram objeto de estudo etnocoreolgico
sistemtico e aprofundado, notadamente no caso das naes Jje e Angola.
254
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 254 25/07/2013 09:08:54
msica e possesso: para alm da eficcia simblica?
Essas caractersticas gerais no devem, todavia, ocultar as diferenas signi-
ficativas que distinguem orixs, voduns e inquices. Mesmo que estas trs mo-
dalidades de possesso paream corresponder categoria geral de transe de
possesso utilizada por Rouget, constata-se que certas divindades manifestam
uma atitude musical ativa, fato este que vem questionar a tipologia estruturalista
segundo a qual, durante um transe de possesso, o possudo estaria exclusiva-
mente na condio de musiqu no sendo, portanto, de forma alguma, mu-
siquant de seu prprio transe. De fato, os voduns da nao Jje cantam durante
as cerimnias rituais: o iniciado possudo se apresenta na frente dos atabaques e
entoa a cantiga de sua escolha, geralmente retomada pelo sacerdote ou pela sa-
cerdotisa e pelos membros da comunidade. No entanto, este mesmo possudo
encontra-se, alguns segundos depois, na condio de musiqu, j que os ataba-
ques e o canto, o qual este previamente entoou, vo acompanhar sua dana. Por
sua vez, em princpio, orixs e inquices no cantam. Durante as cerimnias, s se
expressam vocalmente pelo grito que caracteriza cada um deles.
A possesso pelos caboclos apresenta caractersticas bastante distintas. Mes-
mo se, durante as festas, a dana constitui um meio de expresso privilegiado do
caboclo, este possui outras formas especficas de se expressar e de interagir com
os membros da comunidade, convidados e visitantes. A possesso pelo caboclo ,
ao mesmo tempo, um transe do corpo e um transe da palavra: o caboclo no
se contenta em entoar em voz baixa as cantigas de sua escolha, tal um vodum da
nao Jje, mas assume tambm, muitas vezes, o papel de cantor solista, mesmo
quando ele dana simultaneamente. Ele conversa com os outros caboclos e com
a assistncia, usando um portugus que lhe prprio, qualificado de embolado.
Ele costuma fumar charuto, ingerir jurema e tomar cerveja quente na garrafa,
que ele gosta de compartilhar com os outros caboclos e oferecer aos presentes.
No final das festas, o caboclo convida, um a um, com um gesto do ombro ou da
ponta do p, os membros da assistncia a danar com ele, ao som do samba de
caboclo. A interao entre os caboclos e a assistncia , portanto, bem maior do
que no caso das divindades de origem africana.
Os exus, que cantam raramente, danam essencialmente no ritmo do sam-
ba e, como os caboclos, convidam os participantes da festa a danar com eles.
Eles costumam beber bebidas quentes (conhaque, usque, cachaa) e, quando
tais bebidas chegam a faltar, cerveja quente. Eles fumam charuto ou cigarro.
255
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 255 25/07/2013 09:08:54
xavier vatin
Seu comportamento geralmente licencioso e provocador; no hesitam em fa-
zer propostas indecorosas ou at indecentes a certos membros da comunidade,
convidados ou visitantes.
As festas para os caboclos e para os exus possuem um carter particular-
mente festivo, licencioso, em que a improvisao exerce um papel bem mais
importante do que nas cerimnias para orixs, voduns ou inquices, fato este
que pode explicar a grande predileo de que gozam entre os frequentadores
dos terreiros de candombl na Bahia. Alm disso, vale acrescentar que, duran-
te essas festas, membros da comunidade, convidados e visitantes tm quase
sempre a ocasio de consultar, individual e graciosamente, um caboclo ou
um exu.
Segue um quadro que permite comparar certas caractersticas do compor-
tamento do possudo segundo o tipo de entidade:13
COMPORTAMENTO ORIXS VODUNS INQUICES CABOCLOS EXUS
Dana Sim Sim Sim Sim s vezes
Canto No Sim Raramente Sim Raramente
Grito caracterstico Sim Sim Sim Sim13 Gargalhadas
Uso da palavra Raro Raramente Raramente Sim Sim
Jurema No No No Sim No
Cerveja No No No Sim Sim
Cachaa No No No No Sim
Charuto / Cigarro No No No Sim Sim
No intuito de compreender de forma mais abrangente a natureza comple-
xa e ambivalente das relaes da msica e da possesso, vale enfim relatar um
contexto de ocorrncia da possesso relativamente comum, porm desconcer-
13 Os gritos dos caboclos no so to caractersticos quanto os das divindades africanas; , portanto, difcil iden-
tificar ao certo tal ou outro caboclo pelo seu grito.
256
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 256 25/07/2013 09:08:54
msica e possesso: para alm da eficcia simblica?
tante para as teorias que defendem a preponderncia do efeito fisiolgico ou
neurofisiolgico da msica e, mais especificamente, dos tambores para o
desencadeamento da possesso, da viagem xamnica, do transe ou, de forma
mais ampla, dos estados modificados de conscincia.
A possesso no cotidiano
A possesso no ocorre exclusivamente em um contexto cerimonial: ela pode
se manifestar em um ambiente domstico, sobretudo no caso dos caboclos e
dos exus que, pela sua propenso e predisposio para a fala, so frequente-
mente solicitados para consultas mais ou menos formais, no ambiente doms-
tico de certos iniciados.
Tomemos o caso de Jacira, filha de Obaluai e Ians, iniciada em um terrei-
ro da nao Ketu. Tendo se distanciado, ao longo dos anos, de sua comunidade
religiosa de origem, Jacira recebe toda quarta-feira, na sua casa, uma exua (ou
pomba-gira) chamada Maria Formosa, que vrias pessoas vm consultar para re-
solver diversos problemas pessoais. Formosa possui, no quintal da casa de Jacira,
um pequeno quarto que lhe exclusivamente consagrado, dentro do qual as
consultas ocorrem. Na quarta-feira tarde, quando vrios clientes j esto pre-
sentes, Jacira os convida para se juntar a ela, na entrada do quarto de Formosa.
Sentada na parte interna, Jacira se concentra e pronuncia algumas palavras ri-
tuais; aps alguns minutos, Formosa a pega repentinamente, anunciando sua
chegada com vigorosas gargalhadas caractersticas. Com os olhos exorbitados
e uma aparncia muito imponente, Formosa vem saudar, uma aps a outra, as
pessoas presentes. A consulta, individual, pode ento comear.
Aquilo que, neste contexto, se revela particularmente significativo a ausn-
cia de qualquer desencadeador sonoro semelhante aos elencados acima: ne-
nhuma cantiga, nenhum toque de atabaques, nenhum tinido de sino vem desen-
cadear a possesso. Segundo Jacira, a concentrao e as palavras rituais que ela
mesmo profere so suficientes para suscitar a chegada de Maria Formosa; esta
possesso domstica no requer, portanto, nenhum desencadeador externo.
Do ponto de vista etnomusicolgico, este fenmeno de autoinduo da
possesso nos permite aproximar tal prtica do xamanismo, pelo menos se este
for concebido na perspectiva estruturalista notadamente adotada por Rouget.
257
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 257 25/07/2013 09:08:54
xavier vatin
Este exemplo, muito comum na Bahia, mostra que possesso e xamanismo, pr-
ticas consideradas, por muito tempo, como diametralmente opostas, possuem
certamente tantas caractersticas comuns quanto diferenas significativas, fa-
zendo assim da figura do xam-possudo, verdadeiro mestre da desordem,
o vetor por excelncia da comunicao e da negociao com a sobrenature-
za (surnature). Para Bertrand Hell (1999, traduo nossa), a possesso, como
o xamanismo, marca efetivamente o tempo da irrupo do selvagem na ordem
da cidade.14 Este asselvajamento (ensauvagement), esta desordem temporria,
permite um reagenciamento necessrio, promovido pela irrupo do divino, de
modo que esta desordem aparente desemboca em uma nova ordem.
O caso de Jacira ilustra um cotidiano da possesso presente, sob diversas
formas, de modo extremamente comum na Bahia. Dificultando qualquer ten-
tativa de teorizao globalizante, essas possesses tsingulares e plurais por
exus, caboclos, inquices, voduns e orixs se inscrevem, em toda normalidade
social, em um imprio do imaginrio marcado pelas interpenetraes de
civilizaes, pela mestiagem cultural e pelo pluralismo das prticas rituais
e comportamentais.
As relaes da msica e da possesso nos candombls da Bahia parecem
resultar de uma lgica mestia, que mescla o sistema da possesso africana,
elaborado pela antropologia africanista, com o xamanismo amerndio, teori-
zado pela etnologia americanista. Neste sentido, o culto aos caboclos parece o
mais apto a ilustrar a materializao desse pensamento mestio que funciona
de forma contnua e no segundo o principe de coupure elaborado por Bas-
tide. O grau de interpenetraes ocorridas nas religies afro-brasileiras e afro-
-amerndias aponta para a necessidade de apreender os fenmenos observados
como elementos de um mesmo continuum, e no como entidades autnomas.
A lgica mestia que fundamenta essas trocas mltiplas no nos parece
descontnua. Andr Mary afirma a este respeito:
Lvi-Strauss considera que os processos de desestruturao e reestruturao
obedecem a uma lei de discontinuidade. Isto significaria que a ideia de uma
lgica mestia que estaria operando na ordem das categorias de pensamento
14 la possession, comme le chamanisme, marque effectivement le temps de lirruption du sauvage dans lordre
de la cit.
258
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 258 25/07/2013 09:08:54
msica e possesso: para alm da eficcia simblica?
seria decididamente da ordem do impensvel? Ou seja, que um sincretismo
das formas do entendimento ou da sensibilidade no estaria remetendo a ne-
nhuma realidade psicolgica credvel? (MARY, 1994, p. 86, traduo nossa)15
Parece-nos, portanto, que tanto o estruturalismo lvi-straussiano quan-
to o principe de coupure bastidiano apresentam certa inaptido conceitual
para pensar os processos sincrticos na sua dimenso contnua. Voltando
ao tema abordado aqui, parece-nos que a etnomusicologia ainda tem uma cer-
ta dificuldade em apreender a complexidade e a continuidade das relaes da
msica e da possesso, oscilando, aqum ou alm, em torno do conceito de
eficcia simblica.
Uma eficcia musical intrnseca e extrnseca
Portanto, se os fenmenos de possesso so muitas vezes desencadeados,
acompanhados e regidos pela msica, no podem ser vistos como sua conse-
quncia direta, j que as relaes que mantm com esta so de natureza es-
sencialmente extrnseca. Todavia, parece inegvel que a dialtica central en-
volvendo ordem e desordem encontra uma resoluo no emprego recorrente
de devises musicais culturalmente codificados s quais (cor)respondem certos
comportamentos corporais e coreogrficos igualmente prescritos, cujo con-
junto vem restabelecer uma ordem terrestre (ou csmica) colocada em perigo
pela ao de foras invisveis ligadas a uma desordem csmica (ou terrestre).
Enfim, o caso frequentemente relatado de pessoas totalmente externas ao
candombl que, ao presenciar pela primeira vez uma cerimnia ritual, entram
em transe ao som dos atabaques e das cantigas sagradas, vem levantar uma
ltima interrogao, que atinge, a rigor, os limites da racionalidade cient-
fica: existiria, portanto, um poder sobrenatural da msica, capaz de induzir,
desencadear, por si s, o transe? Atingimos aqui os nossos limites conceitu-
ais e tericos. Afinal de contas, tais limites nos remetem talvez tradicional
distino entre natureza e cultura, evocando o ensinamento de Merleau-Ponty
15 Lvi-Strauss saccorde avec lide que les processus de dstructuration et de restructuration obissent une
loi de discontinuit. Est-ce dire que lide dune logique mtisse qui oprerait dans lordre des catgories
de pense serait dcidment de lordre de limpensable? Autrement dit, quun syncrtisme des formes de
lentendement ou de la sensibilit ne renverrait aucune ralit psychologique crdible?
259
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 259 25/07/2013 09:08:54
xavier vatin
(1945, p. 220, traduo nossa): Tudo fabricado e tudo natural no homem.16
Portanto, de modo semelhante, podemos afirmar que a natureza das relaes
entre msica e possesso , ao mesmo tempo, intrnseca e extrnseca, natural
e cultural, fisiolgica e simblica. Confrontados possesso e ao xamanismo,
verificamos que a msica se situa, ao mesmo tempo, aqum, no mago e alm
da eficcia simblica, em um jogo dialtico que talvez constitua o verdadeiro
segredo da busca universal do sagrado e da experincia mstica.
Referncias
AMSELLE, Jean-Loup. Logiques mtisses. anthropologie de lidentit en Afrique et
ailleurs. Paris: Bibliothque Scientifique Payot, 1999.
ARTAUD, A. Le thtre et son double. Paris: Gallimard, 1995.
BASTIDE, R. Le Rve, la Transe et la Folie. Paris: Flammarion, 1972.
HELL, B. Possession et Chamanisme: les maitres du desordre. Paris: Flammarion, 1999.
LEIRIS, M. Miroir de lAfrique. Paris: Gallimard, 1995.
LVI-STRAUSS, C. Lefficacit symbolique. In: _________. Anthropologie Structurale. Paris:
Plon, p. 213-234, 1958.
MARY, A. Bricolage afro-brsilien et bris-collage post-moderne. In: LABURTHE-
TOLRA, P. (Org.). Roger Bastide ou le rjouissement de labme. Paris: LHarmattan,
p. 85-98, 1994.
MERLEAU-PONTY, M. Phnomnologie de la perception. Paris: Gallimard, 1992.
MOTTA, R. Transe du corps et transe de la parole dans les religions syncrtiques du
Nordeste du Brsil. Cahiers de lImaginaire, n. 5-6, p. 47-62, 1990.
ROUGET, G. La musique et la transe. Paris: Gallimard, 1990.
VATIN, X. Rites et musiques de possession Bahia. Paris: LHarmattan, 2005.
VATIN, X. Candombl de Angola: musique rituelle afro-brsilienne. Paris: Maison des
Cultures du Monde, 1999. CD Indit.
16 Tout est fabriqu et tout est naturel en lhomme.
260
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 260 25/07/2013 09:08:54
Experincia religiosa e agenciamentos eficazes
Ftima Tavares
Seguindo as sugestes inspiradoras de Deleuze e Guattari (1995), ao invs de
descrever essncias, pode ser mais produtivo remeter os conceitos s circuns-
tncias em que so engendrados os fenmenos. Isto porque sempre intervm
nas circunstncias potencialidades e associaes mediadores a princpio
improvveis, modificando e deslocando os cursos de ao. com essa pers-
pectiva no essencialista que problematizo, neste trabalho, certas dimenses
das experincias do candombl e da umbanda.
Pretendo, aqui, me valer de situaes, contingncias e passagens utilizan-
do referncias bibliogrficas e dados etnogrficos para avaliar a potencialida-
de de dois conceitos. O primeiro deles, de acontecimento: as diferenas nas
experincias religiosas abordadas implicam em modos de individuao no
delimitveis atravs de coisas e pessoas enquanto entidades unvocas, mas de
acontecimentos nos quais intervm uma infinidade de conectores: corpos
possudos, imprecisos e transformados; lugares e situaes em sua ambincia
humana, material e ecolgica (festas, encontros, igrejas, terreiros, cemitrios,
encruzilhadas, matas, residncias, cidades); seres espirituais de ontologias
variadas (foras, espritos, entidades, guias, orixs).
Atravs do segundo conceito, o de agenciamento, exploro a ideia de que
as experincias religiosas mobilizadas nos acontecimentos no podem ser
consideradas numa perspectiva tout court, compondo uma espcie de ncleo
duro a condensar pertencimentos e delinear fronteiras, mas so flexveis e
moventes, podendo ser replicadas (ou propagadas) numa multiplicidade de
sinais diacrticos que extrapolam o espao dos locais de culto, configurando
controvrsias pblicas sobre identidades religiosas.
O objetivo aqui descrever, atravs de categorias mais adequadas, as expe-
rincias religiosas que mobilizam agenciamentos eficazes, ou seja, que no
261
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 261 25/07/2013 09:08:54
ftima tavares
envolvem representaes sobre coisas (ou eficcia simblica), mas transfor-
maes corporais importantes.
Estruturei o trabalho da seguinte forma: uma discusso inicial sobre o con-
ceito de agenciamento para, em seguida, abordar as experincias de possesso
conhecidas como cair no santo, no candombl e na umbanda, com base em
eventos descritos no livro A cidade das mulheres, de Ruth Landes, e em apon-
tamentos de meu trabalho de campo sobre umbanda, desenvolvido em Juiz de
Fora (MG).
Itinerrios e agenciamentos religiosos
Como descrever atravs de categorias adequadas as experincias religiosas que
mobilizam agenciamentos eficazes, ou seja, que no envolvem representa-
es sobre coisas, mas transformaes corporais importantes? Um caminho
interessante para se recolocar essas questes o de abordar as experincias no
candombl e na umbanda enquanto agenciamentos que combinam pensamen-
tos, afetos, imaginrios e formas de organizao social. Rompe-se, assim, com
a dualidade implicada nos conceitos de representao e prtica, bem como
com a discusso sobre a anterioridade de um sobre o outro.
Os agenciamentos so necessariamente complexos, pois so movimentos
que fazem fazer (numa acepo latouriana), no podendo ser decompostos em
sequncias causais para serem supostamente compreendidos. No so repre-
sentaes sobre coisas, nem formas de propriedade ou controle. No caso dos
agenciamentos no candombl, Goldman chama a ateno para a ontologia en-
volvida na mitologia sobre as divindades:
E no se trata aqui apenas talvez seja preciso advertir de representaes
(o raio representando a orix Ians), relaes de propriedade (o mar perten-
cendo orix Iemanj) ou controle (a doena sendo provocada e controlada
por Omolu), mas de uma forma muito complexa de agenciamento. Em certo
sentido, o mar Iemanj, o raio e o vento so Ians, e a doena Omolu.
(GOLDMAN, 2006, p. 110)
262
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 262 25/07/2013 09:08:54
experincia religiosa e agenciamentos eficazes
Seguindo nessa direo, o conceito deleuziano de agenciamento possibi-
lita compreender as transformaes nos regimes de significao.1 (DELEUZE;
GUATTARI, 1995) Entrever nos agenciamentos concretos as possibilidades que
da emergem parece ser mais promissor do que ancorar antecipadamente a
anlise em perspectivas dualistas. Se os agenciamentos sociais combinam as
dimenses molares (sociais) e moleculares (individualizantes), preciso com-
preender como se processa essa combinao: em que medida os agenciamentos
locais coletivizam ou desterritorializam atravs das suas linhas de fuga.
Assim, para perseguirmos as experincias religiosas em processo, talvez
o conceito de itinerrio no seja o mais adequado, pois toma como a priori a
ideia de sujeitos (ainda que porosos e de delimitao flexvel) transitando
e/ou construindo alternativas (o que poderia evocar uma experincia subje-
tivada). O conceito de itinerrio encontra-se implicado numa concepo de
experincia que confere primazia contingencialidade, imprevisibilidade e
negociao das escolhas efetuadas pelos sujeitos. Por outro lado, considerar o
conceito de agenciamento configura uma aposta bem mais radical nas incer-
tezas do processo, j que elas se distribuem por todo o social (e no apenas en-
tre as intencionalidades dos sujeitos), problematizando a ideia de indecises
e incertezas segundo um modelo de sujeito individualizado. (LATOUR, 2006)
A contingencialidade implicada nos processos sociais no est dada (an-
teriormente experincia) e nem se encontra desencarnada (sendo elabora-
da no curso mesmo do processo). Pode-se, ento, consider-la enquanto um
agenciamento local, molecular, seja como fruto das pequenas irregularidades
que os indivduos imprimem, seja por esforos voluntrios de desterritoriali-
zao dos agenciamentos sociais (ou molares).2
Assim, os agenciamentos concretos (e o indivduo se constitui num agen-
ciamento) so necessariamente instveis, j que processam em graus variveis
esses dois movimentos, onde as afeces no so tomadas como rudos de-
1 Algumas consequncias podem ser destacadas: a) os agenciamentos concretos combinam em formas variadas
os polos molares dos grandes agenciamentos sociais e os moleculares, decorrentes da forma como os
indivduos neles investem; b) esse investimento dos indivduos pode se dar no sentido da territorializao ou
da desterritorializao dos agenciamentos.
2 Um paralelo interessante com relao dinmica dos agenciamentos locais parece ser o dos processos de
simbolizao coletivizante e diferenciador apontados por Wagner (1981).
263
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 263 25/07/2013 09:08:54
ftima tavares
sestabilizadores das aes, mas como possibilidades de desterritorializao de
agenciamentos estabilizados, redefinindo corpos e enunciados.
Agenciamentos religiosos em A cidade das mulheres
O livro de Ruth Landes (2002) sobre a experincia dos iniciados no candombl
em Salvador marcado por uma narrativa bem sugestiva. Seu trabalho desen-
cadeou controvrsias ao registrar a importncia da autoridade feminina nessa
tradio religiosa e recusar uma abordagem que enfatizasse a integrao da
cultura afro no contexto local, preferindo descrever as lutas de significado em-
preendidas pelo povo-de-santo.
A narrativa recupera as disputas por prestgio e legitimidade religiosas,
observando as arenas nas quais elas tiveram lugar. A Salvador do final dos
anos 1930 que emerge no livro marcada pela vivacidade de um relato acad-
mico heterodoxo.
No entanto, a despeito da informalidade do livro, em vrios momentos
Ruth se depara com a diferena implicada na sua condio de pesquisadora
estrangeira, pouco afeita s sensibilidades locais. uma sensao que ela ma-
nifesta com certa tristeza, pois reconhecia configurar um limite para o acesso
a outras percepes da experincia por ela descrita. Para outros agenciamentos,
outras formas de percepo (e no exclusivamente cognitivas).
o que se depreende do relato de sua visita casa de Felipe Nri, primo de
Martiniano do Bonfim. L a pesquisadora conheceu Vitria, esposa de Felipe,
com quem se surpreendeu com a preparao de um despacho para a sua (dela)
boneca-fetiche e com a sua preocupao em torno das fantasias para o rancho
ou janeiras (festa popular que acontecia no ms de janeiro).
Por que, pensei eu, rabugenta, no canalizam toda essa energia para o traba-
lho? Por que no se esforam mais por programas sanitrios e sociais? Por
que gastam tanto de si mesmos em brincadeiras ou imaginando deuses? Por
qu? Bem, disse para mim mesma, uma das razes naturalmente era no se-
rem doutrinados nesses objetivos mais sadios. Outra era a de serem realmen-
te muito pobres e quase sem instruo. Outra ainda que encontravam algo
de real nas janeiras, profundas satisfaes pessoais que no podiam fruir de
outro modo. (LANDES, 2002, p. 110)
264
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 264 25/07/2013 09:08:54
experincia religiosa e agenciamentos eficazes
Essa ltima observao de Landes indica uma sensibilidade que, a despei-
to de sua incompreenso, faz com que ainda lhe reste o reconhecimento de
que existem outras formas de afeco. A certa altura do livro, Ruth explicita
sua curiosidade com o que ela designa por filosofia, misticismo e emociona-
lidade do candombl, reconhecendo que a vivncia e conformao do catoli-
cismo latino e medieval parte integrante dessa experincia. Essa observao
foi corroborada por Edson Carneiro (cicerone, amigo e parceiro de pesquisa) no
seguinte comentrio: Acho que a educao e progresso na verdade empobre-
cero a existncia deles. (LANDES, 2002, p. 134)
Em outro momento, a autora demonstra inquietao com relao sua
sensibilidade para captar as diferenas. Foi durante uma exibio de dana em
Itapagipe (uma regio peninsular da Cidade Baixa) que Carneiro pergunta a
Landes (2002, p. 158-159) se o candombl j no lhe parece to estranho, ao que
ela replicou, discordando:
Tudo me parece estranho repliquei, pesarosa , em especial medida que
aprendo mais. Mas estou comeando a aceitar essas coisas como naturais, e isso
ajuda. Aps algum tempo poderei sentir-lhes a lgica. Ainda preciso lembrar a
mim mesma que estou vendo a realidade, e no um maravilhoso espetculo.
Uma vez mais transparece sua angstia com o reconhecimento de uma di-
ferena que no se restringe apreenso intelectual. Aguardando a realizao
de um ritual de axex no terreiro de me Menininha, Landes assim descreve a
cognio possvel implicada na sua condio de estrangeira:
Olhei para as rvores imponentes e tentei dota-las com as personalidades
vivas que os pretos viam nelas, mas a imaginao no me ajudou. Tive de
contentar-me com saber que os outros viam uma vida maravilha onde eu
s percebia mato. Contudo, no podia dar de ombros ante a diferena entre
a minha compreenso e a deles. Assim, voltei-me para olhar o templo atrs
de mim e a fui um pouco mais feliz. [...] Comparado com as igrejas catlicas,
no parecia uma casa de devoo; mas o esplendor de Pulquria [me ante-
rior a Menininha] lhe conferia importncia para todos os entendidos. Para
mim, era pleno de significao. (LANDES, 2002, p. 285)
Afinal, em que medida o trabalho do pesquisador pensar e sentir como
eles? Nesse caso, seria possvel e desejvel que a pesquisadora pudesse ex-
265
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 265 25/07/2013 09:08:54
ftima tavares
perienciar outra forma de realidade? A questo da afetao que Favret-Saada
(1977) reivindica em seu trabalho parece abordar outra perspectiva da relao
pesquisador-nativo. Nesse caso, no se trata de sentir e pensar como eles, mas
assumir uma relao no sentido forte da palavra. Por outro lado, h ocasies
em que o pesquisador pode acabar implicando-se involuntariamente na pes-
quisa. Enfim, nessa perspectiva, ao invs de saber sobre algo, pode ser mais
adequado saber com o nativo.
Para alm das diferenas nas formas de percepo entre a pesquisadora e
nativos, o livro destaca as controvrsias que envolvem disputas em torno da
autoridade religiosa: sensibilidades, estticas, corporalidades e modulaes
de subjetividades que implicam em agenciamentos diferenciados, delineando
estilos de apresentao pblica. A seguir, destaco trs situaes onde se ex-
plicitam as diferenas entre as mes-de-santo tradicionais e as emergentes.
Visitando Martiniano do Bonfim
A pesquisadora descreve a visita casa de Martiniano Eliseu do Bonfim, velho
babala cujo prestgio no o impede de se encontrar um tanto margem do
candombl da poca. Seus lamentos so bons indicadores das transformaes
em curso. Com ao falecimento de Aninha, autoridade religiosa do Il Ax Op
Afonj, Martiniano se viu num processo de desfiliao das casas de culto em
Salvador, recusando sua participao em razo de um julgamento bastante se-
vero quanto observncia das tradies religiosas. Segundo a autora, ele ame-
aa regularmente abandonar o candombl dizendo que no h mais lugar para
ele, j que so todos falsos. (LANDES, 2002, p. 69)
Como exemplo das transformaes em curso, Martiniano cita o seu afasta-
mento do terreiro de Maximiana (tia Massi), do Engenho Velho, que toca para
baixar as almas dos mortos, coisa que, segundo ele, s por ser feita por homens.
Em outro momento, faz aluso permisso dos homens para danarem. Nessa
visita, Martiniano explicita ainda sua posio quanto s mudanas etrias no
exerccio do cargo de sacerdotisa. Para ele geravam despreparo, no intelectual,
mas de competncia corporal: mulheres novas, sangue quente.
Para Martiniano as diferenas entre os cultos com tradio so marcan-
tes; neles os homens no danam, prtica que vem se proliferando nos cultos
266
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 266 25/07/2013 09:08:54
experincia religiosa e agenciamentos eficazes
de caboclo. Esses so segundo explicao de Edson Carneiro pesquisadora
durante uma conversa cultos blasfemos, pois admitem baixar entidades ig-
norantes e indisciplinadas, inventam deuses e permitem a dana masculina.
Por outro lado, Carneiro sublinha a alegria das cerimnias de caboclo em con-
traste com as iorubas, que so solenes. (LANDES, 2002, p. 77)
Como se pode observar, naquele momento j proliferavam as disputas em
torno da legitimidade das prticas religiosas afro-brasileiras. O prestgio da
tradio ioruba foi se construindo num processo que mobilizou um leque de
variveis mais amplo do que a autoridade religiosa em sentido restrito.
Mas atravs da exposio de sinais diacrticos mobilizados pelas mes de
terreiros de Angola (tambm chamados de cultos caboclos) que se agudizam
as tenses com a ortodoxia ioruba. As controvrsias entre diferentes agencia-
mentos religiosos mobilizam processos de iniciao, autenticidade da experi-
ncia da possesso, autoridade sacerdotal, compleio corporal, hbitos e con-
duta pblica. o que podemos observar na narrativa da pesquisadora sobre o
encontro com me Sabina.
Conhecendo Sabina
Em algumas passagens do livro, Landes faz referncias a Sabina, controversa
me-de-santo de culto caboclo. Para me Menininha, Sabina desenvolveu-
-se por conta prpria, no possui santo e nem me, permite que os ho-
mens caiam no santo, querendo somente dinheiro e no oferecendo ajuda
aos outros.
A primeira vez que a pesquisadora a viu passando pela Avenida Sete de Se-
tembro, no centro de Salvador, ela assim a descreveu: mulher moa, com um
elegante vestido branco e bem talhado, turbante branco e sandlias de couro
branco; estava maquilada, os cabelos pretos espichados e arrumados em cas-
tanha. (LANDES, 2002, p. 212-213)
Edson Carneiro, que acompanhava Landes nesse dia, argumentou que Sa-
bina no parecia uma me em decorrncia do alisamento dos cabelos: ne-
nhum santo de verdade desce numa cabea que tenha sido tocada pelo calor,
afirmou Carneiro. (LANDES, 2002, p. 213) Alm disso, acrescentou que ela pos-
sui jeito de branca, parece limpa, brilhante e moderna, sada de uma fbrica,
267
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 267 25/07/2013 09:08:54
ftima tavares
e possui linhas esbeltas. Em outro momento do relato, a pesquisadora afirma
que Sabina tambm era criticada pelo uso de rouge.
Nesse mesmo dia, num encontro fortuito com Sabina em outra regio da
cidade, ela (Sabina) tambm faz aluso ao descompasso entre a sua aparncia
e o que se espera de uma me-de-santo, mobilizando certa satisfao nesse
comentrio. Quando Carneiro pergunta sobre sua feitura (iniciao), ela res-
ponde que ningum a fez: O senhor sabe que ns, as mes caboclas, no so-
mos tocadas por mo humana. Quem me fez foi o esprito de um ndio que veio
a mim em sonho. (LANDES, 2002, p. 214) A autora indica, ainda, que esse era
um assunto controverso e que a conversa se deu num tom cauteloso.
Outro encontro relatado por Landes ocorreu durante a festa da Me-dgua,
promovida por Sabina. Nessa ocasio, Carneiro teceu vrios comentrios a res-
peito da natureza do transe entre os seus filhos-de-santo. Dizia no dar valor
ao que classificava como transes fceis, oriundos de alteraes emocionais,
mas no genunos. Considerava errada a possesso por mais de uma divinda-
de e, emitindo julgamentos sobre a proliferao de transes sem a autorizao
prvia das mes, considerou o evento uma verdadeira orgia. Por fim, Car-
neiro admitiu que, apesar da sua admirao (talvez no sentido do espetculo)
pela festa que presenciava, no acreditava tratar-se de uma experincia genu-
na. Segundo ele, Sabina aparentava total controle sobre os deuses: Ela me d
a impresso de estar apenas trabalhando com afinco (LANDES, 2002, p. 224),
diferentemente das mes iorubas, cujos corpos evidenciam agudamente os si-
nais da possesso.
A pesquisadora voltaria a procurar Sabina, intrigada com a mobilizao de
um estilo que a distanciava das referncias de autoridade caractersticas das
mes tradicionais. Resolveu visit-la para conversar e conhec-la melhor. Du-
rante a conversa, Sabina contou pesquisadora sobre uma disputa que tivera
com Constncia, uma me de culto caboclo. Ao longo da sua narrativa, Landes
se surpreendeu com o mau humor e a irritao de Sabina, que tecia coment-
rios sobre a medio de foras dos caboclos de ambas. Por fim, Sabina decla-
rou: Todo mundo me inveja. No gostam de mim porque sou moderna e asse-
ada e eles so antiquados e imundos! Dizem que sou rica. Aquele og traava:
Os seus caboclos no sabem danar com lampio de querosene, s com luz
eltrica!. (LANDES, 2002, p. 237)
268
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 268 25/07/2013 09:08:54
experincia religiosa e agenciamentos eficazes
A certa altura da visita, Sabina convidou Landes a retornar no dia seguinte para
um aprendizado com a sua entidade a um custo considervel. Tendo recusado o
convite, ela fez uma contraproposta a Sabina, solicitando os seus ensinamentos.
A conversa, ento, mudou de tom, tendo o caboclo de Sabina baixado para recu-
sar essa possibilidade, respondendo: Meu cavalo no pode ensinar, meu cavalo
s sabe o que eu lhe ensino. (LANDES, 2002, p. 247) Ruth narra em pormenores o
seu embarao e constrangimento diante de uma cena que ela qualificou como in-
voluntria e absurda. Por sua vez, o comentrio de Carneiro ao episdio tambm
carregado de horror e condenao charlatanice envolvida em atitudes que ape-
lam para as entidades com vistas a coagir possveis filhas-de-santo.
Como possvel depreender do relato da autora, a avaliao da legitimi-
dade de Sabina se estende por uma srie de mediadores considerados inade-
quados: a inautenticidade da iniciao (no tendo sido feita por nenhum
humano) e da entidade de Sabina; a corporalidade excessiva (cabelos alisa-
dos, maquiagem, roupas provocantes, jovialidade); o comportamento dese-
quilibrado (oscilando entre o descontrole emocional e o aparente fingimento
na manifestao da possesso); as caractersticas do seu terreiro (uso de luz
eltrica durante as sesses ou giras).
No relato sobre Sabina fica explcita a afinidade da pesquisadora com a
prestigiosa tradio nag. Mas Sabina no a nica a mobilizar reprovao.
Na mais popular festa de largo de Salvador, a festa do Bonfim, os comentrios
sobre a corporeidade e comportamento de outras mes e pais de culto angola
possibilita-nos situar melhor a posio de me Sabina, entrevendo nela carac-
tersticas partilhadas por toda uma nova gerao de iniciados, que se contrapu-
nham ao modelo tradicional de candombl.
A festa do Bonfim
No relato sobre a festa da lavagem do Bonfim, Landes destaca os comentrios
de Zez, filha-de-santo do Gantois, que a acompanhava na festa: quando avis-
tou Me Idalice, chefe de um terreiro de tradio angola, Zez a censurou, di-
zendo que passava ferro nos cabelos, atitude leviana que no se espera de
algum srio. Carneiro, por sua vez, defendeu-a, argumentado que tinha sido
feita j h bastante tempo por Flaviana, me respeitvel. Zez rebateu o argu-
269
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 269 25/07/2013 09:08:54
ftima tavares
mento, alegando que provavelmente ela teria rompido com Flaviana (passando
de ioruba para angola) e criticando seu comportamento pblico: seu colar de
santo estava mostra e ela dava a mo a beijar, conduta que, segundo Zez, de-
veria ser reservada apenas para o espao religioso do terreiro.
Foi durante essa festa que a pesquisadora conheceu Joo da Pedra Preta
(posteriormente conhecido como Joozinho da Gomia). Sobre a sua figura,
Landes tece alguns comentrios, como o cabelo espichado, a dana, a homos-
sexualidade declarada e a incapacidade de manter a disciplina entre as suas
filhas-de-santo. A autora tambm destaca seu jeito gracioso, imaginando-o
um excelente danarino. Carneiro de certa forma o defende, lembrando que
se tornara chefe de terreiro muito jovem e, embora ambicioso, a seu modo tem
procurado abrir caminho no mundo. (LANDES, 2002, p. 304)
Agenciamentos na umbanda e no candombl em Juiz de Fora3
Em Juiz de Fora se destaca a antiguidade da tradio umbandista ou, como
muitos entrevistados se referiram, do espiritismo de umbanda. Na mem-
ria dessa tradio, a antiguidade compreendida como marcadamente au-
tctone e fonte de autoridade que demarca a experincia religiosa genuna.
Contrastando com Salvador, nessa cidade a umbanda depositria da autori-
dade legtima da tradio religiosa afro-brasileira.
A relao de continuidade entre a umbanda e algumas tradies conside-
radas anteriores sua formao acentuada pelos umbandistas da cidade. No
so raros os casos em que os adeptos, ao enfatizarem a antiguidade da tradio
familiar umbandista na qual eles foram criados, utilizam designaes como
espiritismo, cabula ou canjer.4
Contrastando com a antiguidade da umbanda, o candombl tido como
uma religio estrangeira tradio local, gerando controvrsias no propria-
3 Nesse item do trabalho, desenvolvo a argumentao inicialmente apresentada em trabalho sobre as tradies
afro-brasileiras na cidade. Confira Tavares e Floriano (2003).
4 A expresso espiritismo de umbanda, utilizada pelos entrevistados, tambm parece indicativa de uma certa
apropriao, politicamente vantajosa, do termo espiritismo para designar a umbanda, j que o espiritismo
goza de prestgio na cidade. Por outro lado, essa percepo de continuidade com o espiritismo e com outras
tradies muito antigas confere certa especificidade umbanda de Juiz de Fora em relao quela praticada
no Rio de Janeiro e em So Paulo.
270
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 270 25/07/2013 09:08:55
experincia religiosa e agenciamentos eficazes
mente em torno de sua legitimidade enquanto religio, mas acerca da sua
validade como alternativa religiosa no contexto local. o que se pode de-
preender do breve relato abaixo.5
Tradio e alternativas religiosas
Em Juiz de Fora, a umbanda goza de prestgio e legitimidade, perfazendo uma
linha de continuidade com antigas tradies religiosas da regio. Como enfa-
tizou um velho umbandista, nas primeiras dcadas do sculo passado a desig-
nao de canjer referia-se s prticas consideradas de baixo espiritismo,6
sendo assim identificadas pela elite local: o canjer no outra coisa diferen-
te. o nome que o clero colocou como canjer, afirmou. Com isso, ele queria
deixar claro que se tratavam apenas de diferentes designaes inicialmente
canjer e posteriormente umbanda para a mesma prtica religiosa. Acrescen-
te-se a isso o fato de que o termo canjer, sendo utilizado pelo clero catlico
e pela polcia da poca, configurava, para ele, apenas uma designao externa,
pejorativa, para a religio que praticava desde menino, j no incio dos anos
1920, no lendrio centro de Dona Mindoca.
J para outro entrevistado, um umbandista muito famoso na cidade e que
foi iniciado no candombl, o que se praticava no centro de Dona Mindoca era
umbanda, e no canjira (ou canjer). Ele aponta a seguinte distino:
O altar dela de umbanda, no altar de canjira, porque completamente dife-
rente. [e o que canjira?] A canjira... Ela... como, como o jurema. Monta-se
uma mesa branca, ... Pe-se um jarro com gua, flores brancas e a... A voc
comea a fazer a invocao dos espritos.
A discordncia observada entre umbandistas com relao ao canjer, no
entanto, no diz respeito apenas ao caso especfico desse centro, mas parece
estender-se por outras localidades de Minas Gerais. Assim, ao recuperar a his-
tria de um pequeno povoado prximo de Diamantina (MG), Machado Filho
(1964) aborda, entre outros assuntos, a polmica em torno do significado do
5 Este relato encontra-se parcialmente publicado em Tavares e Floriano (2003).
6 Esse constituiu um termo acusatrio muito utilizado na regio sudeste. Sobre a utilizao desse termo como
estratgia de acusao, ver, especialmente, Maggie (1992).
271
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 271 25/07/2013 09:08:55
ftima tavares
canjer. Citando as definies apresentadas por Renato Mendona7 e Jacques
Raimundo,8 o autor vai refutar a tentativa de compreenso do canjer como
um conjunto delimitado de prticas fetichistas: Que saibamos, canjer no
em Minas sinnimo de macumba, mas significa simplesmente feitio. De-
signa tambm a dana do Canjer, que, pelo menos em nossos dias, no tem
nenhum sentido feiticista, sem embargo da evidente procedncia afro-negra.
(MACHADO FILHO, 1964, p. 60)
Pode-se depreender que, atravessando essa polmica, sendo canjer ou
umbanda o que se praticava no centro da Dona Mindoca, o que parece con-
sensual o reconhecimento da sua importncia numa linha de continuidade
que demarca a tradio umbandista na cidade. Vale observar que a memria da
tradio afro-brasileira local bastante dispersa e pouco conhecida dos adep-
tos dessas religies. Em contraste com a tradio organizativa umbandista,
observada no Rio de Janeiro e So Paulo, em Juiz de Fora poucos so aqueles
que detm informaes dos centros mais antigos ou sobre o trabalho das asso-
ciaes afro-brasileiras locais. Considerando-se a disperso da memria afro-
-brasileira em Juiz de Fora, surpreendente que quase todos j tenham ouvido
falar dela e, por vezes, tenham histrias ou detalhes de sua vida para contar.9
So histrias e fragmentos sobre a sua personalidade e seu pioneirismo: se ela
no foi a mais antiga, certamente foi a que deteve mais prestgio.
7 Reunio de escravos para cerimnias fetichistas, acompanhadas de danas. (MENDONA, 1935 apud MATA
FILHO, 1964, p. 60)
8 Em Minas Gerais chama-se canjer a uma reunio de indivduos com prticas feticistas, para atrair incautos,
sob a promessa de livr-los de molstias e outros males, mas com o fito delituoso de, burlando-os, lhes extor-
quir dinheiro e outros haveres; no Rio de Janeiro um sinnimo de macumba, dizendo-se tambm canjer ou
conjer, e cremos que em Minas se usa igualmente nesse sentido mais restrito [...]. (RAIMUNDO, 1936 apud
MATA FILHO, 1964, p. 60)
9 O mesmo entrevistado que discordou da afirmao de que Dona Mindoca praticasse canjer apresentou o
seguinte relato sobre o incio da mediunidade dessa mdium: ela trabalhava na casa de uma senhora que era
mdium, que recebia caboclo sem nome [...] e trabalhava com um tal Francisco de Aruanda... E essa senhora,
que era mdium, ficou doente [...] ento, ela [Mindoca] estava na bica lavando roupa... E quando... A mdium
da entidade estava doente... acamada, no tinha condio de receber... Este caboclo veio e pegou ela na mina,
lavando roupa... E foi atender as pessoas. Daquele dia em diante, a mediunidade dela foi aberta e ela comeou
a trabalhar. Vale ressaltar que, para esse entrevistado, o caboclo sem nome seria a mesma entidade recebida
por Zlio de Moraes, no Rio de Janeiro, nomeada de caboclo das 7 encruzilhadas. Referncias sobre Zlio de
Moraes podem ser encontradas em Brown (1985). Giumbelli (2002) apresenta uma biografia crtica sobre a
importncia de Zlio de Moraes na fundao da umbanda.
272
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 272 25/07/2013 09:08:55
experincia religiosa e agenciamentos eficazes
Segundo descreveu um dos entrevistados que l se desenvolveu,10 suas
giras contavam com vrios mdiuns que recebiam diferentes entidades.11
As rezas abriam e fechavam cada sesso, sempre realizadas s segundas, quar-
tas e sextas-feiras. Durante essas giras no havia toque de tambores. Somente
nas giras para Oxal, realizadas na primeira ou na ltima sexta-feira de cada
ms, que os tambores se faziam presentes. Eram giras bem demoradas, que
comeavam no incio da tarde e costumavam se estender por toda a noite.
Contrastando com a antiguidade da umbanda na cidade, somente na d-
cada de 1980 que o candombl se constitui como uma alternativa religiosa em
Juiz de Fora. A despeito da provvel existncia de terreiros de candombl an-
teriormente a esse perodo,12 na memria local, partilhada tanto pelos adep-
tos da umbanda como do candombl, nessa poca que ele ganha visibilidade.
O processo de feitura dos primeiros candomblecistas que abriram barraco
em Juiz de Fora se deu atravs de contatos estabelecidos em terreiros da Bai-
xada Fluminense e de Niteri, onde foram realizadas as primeiras iniciaes.
Passado algum tempo aps a iniciao que esses primeiros candomblecis-
tas iniciaram seus filhos-de-santo (sob a superviso de seus respectivos pais e
mes-de-santo) em terreiros na cidade.
O fundamento da umbanda na experincia de cair no santo
A fama de Dona Mindoca explicita o reconhecimento da linha de continuidade
que demarca a tradio local. Figura controversa, de personalidade marcante,
seu prestgio assentava-se no reconhecimento pblico de que detinha grande
10 Ele ainda era criana quando passou por uma experincia traumtica de desmaio, tendo sido levado pelo
pai e pela av ao centro da Mindoca para que ela o ajudasse. A entidade de Dona Mindoca, um preto velho
chamado Pai Mateus de Angola, diagnosticou a necessidade de desenvolvimento do menino. O pai, ainda
que contrariado, resignou-se e acabou aprovando a sua entrada no centro.
11 Segundo nosso entrevistado, o nmero de mdiuns costumava variar: algumas sesses contavam com 10 a
15 mdiuns, enquanto que, em outras, o nmero no passava de 3 ou 4. Ele no soube precisar a poca nem
mesmo o motivo dessas variaes.
12 Nas entrevistas encontra-se pelo menos uma meno com relao existncia de uma me-de-santo que
praticava o candombl na cidade h cerca de 30 anos ou mais. Tratava-se de uma frequentadora de um dos
terreiros de umbanda mais antigos ainda em funcionamento, o Centro Esprita Santo Antnio de Umbanda,
fundado pelo conhecido Man p-de-ferro, falecido na dcada de 1960. Segundo suas filhas que h vrias
dcadas esto frente do centro essa mulher teria sido desenvolvida quando o centro ainda era dirigido
pelo Man, se afastando, posteriormente, para se iniciar no candombl. Ainda segundo as filhas do Man,
ela teria aberto um terreiro em Juiz de Fora h pelo menos 30 anos.
273
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 273 25/07/2013 09:08:55
ftima tavares
poder, na fora do seu feitio, e no propriamente de uma autoridade inicitica
nos moldes das mes iorubas baianas.
Entre os umbandistas so lembradas histrias sobre sua capacidade de lu-
dibriar a fora policial ou mesmo de confront-la, episdios que envolveram
morte em seu terreiro e disputas entre entidades espirituais, tendo, inclusive,
sido envolvida como ru em processo judicial.13 Mas a legitimidade da sua ex-
perincia de incorporao, bem como o poder dela decorrente, so reconheci-
dos e valorizados por todos.
A fora dos guias da umbanda expressa atravs da ideia de fundamen-
to dessa tradio. Para os umbandistas juiz-foranos, esses guias so entidades
que demandam muita dedicao dos seus filhos, cujo abandono ou troca de
cabea para o candombl pode gerar consequncias graves, como o adoeci-
mento ou a morte.
No tocante iniciao tambm sobressaem as diferenas entre o controle
inicitico, observado no candombl, e a ausncia de intermediao humana
na feitura da umbanda. Os relatos sobre a iniciao na umbanda nessa ci-
dade apontam experincias involuntrias, solitrias, ocorridas na infncia
ou juventude, cujo reconhecimento de caractersticas inatas (hereditrias ou
no) compe a mediunidade de bero. o caso de Sebastiana, cujo incio
da sua mediunidade foi conturbado, pegando-a de surpresa. Na sua narrativa
transparece um sentimento de resignao e de profundo desconhecimento
da sua condio:
Comecei a cair... Comecei ali na Floriano Peixoto, n. 886...[...] Comecei... Comecei
a pegar...[...] Dentro de casa...[...] L dentro da Igreja. [...] No sei... Eu no tinha
nada, eu sentava l pra rezar e ele abaixava, ele dava o nome dele, o pessoal
ficava, escrevia, punha l na mesa, a que eu fiquei sabendo os guias que tava
recebendo. Tem o guia da criana, guia de velho, sete lagoas. [...] Mas eu entrei
nessa linha porque eu comecei a passar mal, eu ia missa na igreja, eu caa l. O
padre falou pra minha patroa: , voc d um jeito nela que o negcio dela no
igreja catlica no, ela vai mexer com espiritismo. [...] Quer dizer que a minha
linha no era catlica, era espiritual.
13 Sobre o processo judicial de Dona Mindoca no contexto da regulao jurdica das tradies afro-brasileiras
em Juiz de Fora no incio do sculo XX, ver Dias (2006).
274
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 274 25/07/2013 09:08:55
experincia religiosa e agenciamentos eficazes
Contrastando com as desconfianas em torno do estilo de possesso de
me Sabina, em Juiz de Fora (MG) as experincias de iniciao e de cair no san-
to umbandistas decorrem de outros acontecimentos. Mes e pais-de-santo
que se dizem mdiuns de bero j nascem iniciados incorporam entida-
des (ou guias) que gozam de enorme prestgio. Bem diferentes da exubern-
cia corporal e comportamental que marca o relato sobre Sabina, eles vivenciam
a umbanda nos termos de uma religiosidade tica, marcada pelo compromis-
so, renncia e restrio corporal, e costumam diferenci-la do candombl,
tida como uma religio de festa.
Por outro lado, embora as experincias religiosas comportem restries
variadas (sexuais, alimentares e de comportamento), as fronteiras corporais
encontram-se abertas imprimindo contornos diferentes em relao ao corpo
biolgico. So efeitos decorrentes da incorporao dos guias que produzem
demarcaes corporais variadas e moventes. o caso, por exemplo, da expe-
rincia de Dona Maria, ao tratar da ingesto de bebida alcolica durante uma
gira de caboclo: alguns efeitos so reconhecidos (presso alta), outros no
(ausncia de ressaca). Nesse mesmo relato emerge a ideia de corpo aberto,
com potencialidade de se conectar com outras subjetividades, como se obser-
va no trecho abaixo sobre um tratamento realizado:
Ento ela chegou aqui, foi em vrios terreiros e o esprito do pai dela falava dentro
da barriga dela. Voc escutava a voz dele como ns estamos conversando aqui,
todo mundo escutava a voz dele. [...] Ento ela foi em vrios templos, antiga-
mente no tinha esse negcio de Universal, tinha Casa da Bno e Assembleia
de Deus, Metodista, Batista. Levaram ela, fizeram, na igreja, o padre e nada. A
internaram ela, ela ficou pior ainda, hospital de doido. [...]A o esprito falava,
falava, falava: eu quero isso, eu quero te levar pra cama, quero fazer isso, quero
fazer aquilo, falava uma poro de besteira com a prpria filha. A o guia [da m-
dium] veio, fez o transporte, a o esprito dela, o esprito do pai dela, tirou o meu
guia e fez o transporte para o meu corpo. Ento o esprito veio e falou assim: eu
t sofrendo, eu sou fulano de tal, eu t sofrendo porque eu matei uma mulher...
Todas essas caractersticas imprimem um estilo experincia umban-
dista, onde se observa um equilbrio bastante precrio entre foras molecula-
res (ou de individuao, decorrentes das muitas pequenas diferenas impri-
midas pelas mes e pais-de-santo umbandistas) e molares, que demarcam as
275
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 275 25/07/2013 09:08:55
ftima tavares
diferenas entre a umbanda e o candombl (o recebimento de pretos velhos
e a prtica da caridade, por exemplo).
No entanto, na umbanda os movimentos de desterritorializao parecem
ser absorvidos, configurando uma caracterstica marcante dessa religiosida-
de: cada terreiro, por mais idiossincrtico que seja, no perde sua identidade
pblica de umbandista. Como indica Floriano (2009) ao abordar as transfor-
maes da umbanda na cidade: em certo sentido, ser umbandista ser capaz
de mudar. o que se pode depreender da dinmica das relaes entre umban-
da e candombl em Juiz de Fora.
Da umbanda para o candombl: passagens
A chegada do candombl em Juiz de Fora no aconteceu de forma tranqui-
la. Vrios problemas foram enfrentados pelos primeiros iniciados, desenro-
lando-se em duas arenas. A primeira delas, interna aos terreiros, refere-se ao
processo de reorientao pessoal de suas trajetrias religiosas e, consequente-
mente, do perfil conferido aos terreiros por eles dirigidos. A segunda, por sua
vez, externa aos terreiros, processa-se nas relaes entre o candombl e a cida-
de, pouqussimo familiarizada com essa religio.14
Como todos eram dirigentes de centros de umbanda, uma primeira dificulda-
de foi a de reorientar suas trajetrias de forma a no inviabilizar o andamento dos
seus respectivos terreiros, evitando, com isso, constranger as atividades rituais
dos seus mdiuns. Muito embora a feitura no candombl tenha produzido al-
gumas mudanas nesses centros como, por exemplo, a necessidade de se retirar
todas as imagens de santos , a soluo adotada foi a da convivncia das ativida-
des rituais caractersticas de cada religio.15 Eles continuaram dirigindo as suas
giras de umbanda, afastando-se apenas por ocasio do recolhimento de al-
gum novo abi (candidato iniciao). Assim, a totalidade dos candomblecistas/
14 O tempo necessrio entre a feitura da cabea e o credenciamento para iniciar outros filhos-de-santo gira
em torno de sete anos. No entanto, vrios candomblecistas da cidade tm reduzido esse tempo para algo em
torno de um ano. Segundo alegaram, isso se deve ao fato de j serem iniciados na umbanda, condio que os
autoriza a diminuir o tempo de preparao.
15 Do ponto de vista do arranjo fsico, no entanto, foram vrias as opes adotadas: a coexistncia da umbanda
e do candombl num mesmo espao fsico; a manuteno, no mesmo terreno, de um barraco de candombl
e de um terreiro de umbanda; ou ainda a opo de manter o barraco e o terreiro em bairros diferentes.
276
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 276 25/07/2013 09:08:55
experincia religiosa e agenciamentos eficazes
umbandistas entrevistados, tanto os antigos como os mais novos, continuou a
receber as entidades de umbanda.
Em Juiz de Fora, o reconhecimento das diferenas entre a umbanda e o
candombl implicou numa forma especfica de agenciamento das fronteiras
religiosas. Diversamente da experincia paulista, onde a migrao para o can-
dombl exigiu o abandono dos guias da umbanda, os umbandistas juiz-fora-
nos construram passagens, e no fronteiras, reconhecendo a autoridade dos
seus guias conjuntamente ao prestgio da possesso pelos orixs.
Assim, a despeito dos diferentes rearranjos produzidos entre a herana
umbandista e a iniciao no candombl, de certa forma os candomblecistas
no deixaram de ser umbandistas, mas tiveram que produzir articulaes en-
tre agenciamentos religiosos tidos como distintos. Nos relatos, as composi-
es deram origem a novos contornos nos agenciamentos religiosos desses
umbandistas recm-iniciados no candombl: como bem sintetizou Belotti
(2005), so umbandistas de cabea feita.16 Uns, por opo, outros, por neces-
sidade, para esses adeptos a iniciao no candombl configura uma etapa do
seu desenvolvimento espiritual, mas, para que seja bem sucedida, necessria
a manuteno dos laos de obrigaes recebidos na umbanda. As razes um-
bandistas so reivindicadas por todos como intrnsecas sua herana pessoal
(todos so feitos de nascena ou desenvolvidos ainda quando criana) e lo-
cal (a umbanda a raiz de Juiz de Fora).17
16 A construo dessa nova identidade passa, sobremaneira, pela capacidade de negociao com o passado
umbandista, mas tambm pelo tipo de insero pretendido no candombl. A ttulo de exemplo: um dos
nossos entrevistados falou que era somente 15% candomblecista. Ele foi para o candombl por ser filho de
If, o orix dos bzios. O santo exigiu que ele raspasse a cabea, no tendo sido atendido. Ele somente deu a
obrigao, tendo aprendido a cultuar o orix. Atualmente, ele joga bzios e continua como chefe de terreiro
de umbanda.
17 Talvez, numa hiptese comparativa com o Rio e So Paulo, se possa identificar uma especificidade do
candombl juiz-forano. A expanso do candombl, verificada a partir dos anos 1980, tem como caractersticas
a universalizao e a dessincretizao. Os estudos realizados no Rio e em So Paulo apontam, nesse processo,
uma certa ruptura na passagem da umbanda para o candombl: entre muitos candomblecistas que foram
umbandistas, verifica-se uma redefinio (por escolha ou por necessidade) de suas identidades religiosas,
que implica na superao do passado umbandista em direo ao candombl. Assim, entrevistando pais
e mes-de-santo de So Paulo, Reginaldo Prandi (1991) aborda os motivos e razes para o abandono da
umbanda. Patrcia Birman tambm observa esse movimento no Rio: Em todos os terreiros com que tive
contato, os pais e mes-de-santo iniciaram suas carreiras praticando umbanda e encaminharam-se mais
tarde para o candombl. (BIRMAN, 1995, p. 28) No entanto, como temos observado em Juiz de Fora, nessa
passagem em direo ao candombl, o passado umbandista tem sido incorporado nova identidade
candomblecista, ressignificando-o. Sobre essa questo, ver tambm, para o caso carioca, Capone (1999). J
para o caso paulista, ver tambm Silva (1995).
277
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 277 25/07/2013 09:08:55
ftima tavares
No que diz respeito receptividade do candombl na cidade, dificuldades
diversas foram narradas: problemas com a vizinhana, que no v com bons
olhos a proximidade de um terreiro de candombl, so bastante corriqueiros
e tambm familiares aos umbandistas de uma forma geral. No entanto, de-
nncias e acusaes mais graves tambm se fizeram presentes. Um episdio
ocorrido em meados de 1991 bastante indicativo dessas tenses iniciais: um
pai-de-santo da cidade foi indiciado por extorso, sendo condenado a quatro
anos de priso em regime aberto. A autora da denncia: a me do jovem que
estava sendo iniciado por esse pai-de-santo. Esse rapaz encontrava-se reco-
lhido h vrios dias no terreiro (o recolhimento faz parte das obrigaes da
iniciao), quando ocorreu a invaso do terreiro pela polcia e a consequente
interrupo da iniciao desse jovem. A denncia referia-se ao exagero dos
gastos que foram exigidos para a sua feitura no santo. Segundo relatou esse
pai-de-santo, por ser muito jovem no santo ele ainda no podia se respon-
sabilizar integralmente pelo processo de iniciao do rapaz, tarefa que estava
sendo conduzida por seu prprio pai-de-santo, que viera do Rio com esse ob-
jetivo. Essa batida policial causou, poca, uma grande repercusso, sendo
largamente noticiada na imprensa local. O terreiro foi fechado e s em 2002 o
acusado pde reabri-lo.
Concluso: agenciamentos e transformaes eficazes
Quais agenciamentos emergem das experincias religiosas abordadas? Con-
formam identidades religiosas claramente delimitadas, com convices sub-
jetivadas e pertencimentos exclusivistas? Ou, ao contrrio, apontam para um
sincretismo generalizado, como se costuma dizer sobre tudo que brasileiro?
Podemos seguir outros caminhos que no essas sadas tradicionais.
Pode-se sugerir que agenciamentos diferentes iro conformar outros
corpos e subjetividades. Na experincia da possesso do candombl, filho-
-de-santo e orix estabelecem relaes por intensidades, e no por identi-
ficao ou semelhana. Observa-se a centralidade da mediao da me ou
pai-de-santo para o sucesso dessa empreitada, que longa e penosa, com-
preendendo uma concepo processual de subjetividade na construo da
pessoa. (GOLDMAN, 2006) J a iniciao umbandista valoriza a relao de
278
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 278 25/07/2013 09:08:55
experincia religiosa e agenciamentos eficazes
exclusividade entre entidade e filho-de-santo, sem a interferncia de outros
humanos no processo. A ideia de que se nasce pronto, vista com muita re-
serva para o povo do camdombl, aqui ressignificada como um atributo de
poder e autenticidade. A experincia de cair no santo se processa atravs da
incorporao nos limites das fronteiras corporais do iniciado, fenmeno
cujas fronteiras nem sempre so coincidentes, mobilizando, assim, corpos
imprecisos e moventes.
Os agenciamentos religiosos tambm mobilizam diferentes controvr-
sias em torno das identidades pblicas. Sobre as relaes entre candombl e
umbanda, sugiro voltarmos ao trabalho de Ruth Landes, num trecho em que
relata o final de sua estadia no Brasil, onde passou algum tempo no Rio de
Janeiro, juntamente com Carneiro. Nesse perodo ela frequentou vrios ter-
reiros, tecendo os seguintes comentrios sobre os cultos designados por ma-
cumba carioca:
Os templos eram dirigidos por homens e pareciam frios e espalhafatosos.
Sentamos saudade da simpatia e fortaleza de nimo das mes [baianas].
Mesmo Sabina, nas nossas recordaes, ficava muito acima daqueles pais.
Frequentvamos as casas de msica procura de discos de certo cantor de
macumba chamado J. B., que cantava no estilo clido e gutural dos velhacos
como Arsnio Cruz, que atuavam nos templos tradicionais. Soubemos que
J. B. tinha sido expulso do culto por algum tempo, por haver comercializado
canes rituais. (LANDES, 2002, p. 315)
As possibilidades comparativas do desabafo acima so reveladoras das di-
ferenas de legitimidade religiosa entre o candombl de Salvador e o do Rio
de Janeiro. A saudade de me Sabina, mencionada no relato, aponta a distn-
cia que se pretende demarcar: mesmo a controversa me-de-santo ocupa uma
posio hierarquicamente superior tradio carioca. Essa assimetria de
legitimidade entre os candombls baianos e a macumba carioca atravessou a
diversidade religiosa afro-brasileira at bem recentemente, e ao mesmo tempo
convida-nos a refletir sobre as diferenas nos pontos de corte em outros con-
textos geogrficos. Foi o que pudemos observar no caso de Juiz de Fora, onde as
disputas mobilizam outros agenciamentos nas relaes entre umbanda e can-
dombl, bem diferentes das tenses entre os candombls nags e de caboclos
em Salvador. (GIUMBELLI, 2002)
279
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 279 25/07/2013 09:08:55
ftima tavares
Nas experincias religiosas fica difcil esquadrinhar dimenses internas
(subjetivadas) e externas (pblicas), ou ainda essenciais e secundrias, na
compreenso dos critrios de legitimidade e justificao evocados pelos adep-
tos. As polmicas acerca das identidades religiosas pautadas em perspectivas
essencialistas atravessam tanto as anlises sobre religiosidades tradicionais
quanto aquelas sobre novas religiosidades, revelando a tentativa de buscar
paradigmas generalizantes que conferem sentido s experincias tidas como
descontextualizadas. (MONTERO 2006)
No entanto, penso que a abordagem de Latour (2006), propicia uma sada
para esse dilema na medida em que desloca os dualismos convencionais entre
o geral e o particular para focar as mediaes, os processos, o espao interme-
dirio. A ideia de que emoes, subjetividades e corpos so feitos atravs de
agenciamentos eficazes, e no apenas simblicos, propicia um deslocamen-
to importante na compreenso das experincias religiosas. Esse deslocamento
tambm possibilita reconhecer diferentes ontologias da diferena, conside-
rando, alm das diferenas identitrias, as diferenas intensivas (ou devires).
Recusando a dmarche tradicional que ope emoo e afeto (ausncia de signi-
ficao) ao conhecimento (produo reflexiva), essas dimenses encontram-
-se necessariamente implicadas nos processos de ao.
Referncias
BELOTTI, Stefnia. Umbandistas de cabea feita: uma anlise do trnsito religioso
entre umbandistas e candomblecistas em Juiz de Fora. 2004. Dissertao (Mestrado
em Cincia da Religio) - Programa de Ps-Graduao em Cincia da Religio,
Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, Juiz de Fora, MG, 2005.
BIRMAN, Patrcia. Fazer estilo criando gneros. Rio de Janeiro, Relume-Dumar;
EdUERJ, 1995.
BROWN, Diana, Uma histria da umbanda no Rio. In:________. Umbanda & Poltica. Rio
de Janeiro, ISER/Editora Marco Zero, 1985. p. 9-42.
CAPONE, Stefania, La qute de lAfrique dans l candombl. Paris, ditions Karthala,
1999.
CAROZZI, Maria Julia, Creencias: lo que no es cuerpo para las ciencias sociales de la
religin. Religio & Sociedade, v. 22, n. 1, p. 77-92, 2002.
DELEUZE, G.; GUATTARI, F. Mil Plats: capitalismo e esquizofrenia, v. 2. So Paulo: Ed.
34. 1995.
280
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 280 25/07/2013 09:08:55
experincia religiosa e agenciamentos eficazes
DIAS, Jaqueline Cristina. Feitios e feiticeiros: represso tradio religiosa afro-
brasileira na Juiz de Fora do primeiro Cdigo Penal Republicano (1890-1942). 2006.
Dissertao (Mestrado em Cincia da Religio) - Programa de Ps-graduao em
Cincia da Religio, Universidade Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, MG, 2006.
DUARTE, Luiz F. D. Pessoa e dor no Ocidente. Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, v. 9,
n. 4, p. 13-28, 1998.
DUARTE, Luiz F. D. Indivduo e pessoa na experincia da sade e da doena. Cincia &
Sade Coletiva, v. 8, n. 1, p. 173-183, 2003.
ESCOBAR, Carlos Henrique, Dossier Deleuze. Rio de Janeiro, Holon Editorial, 1991.
FAVRET-SAADA, Jeanne. Les mots, la mort, les sorts. Paris, Gallimard, 1977.
FLORIANO, Maria da Graa. As reunies de dona Xzinha: trnsito religioso e espao
secreto, entre modernidade e tradio. 2002. Dissertao (Mestrado em Cincia da
Religio) - Programa de Ps-graduao em Cincia da Religio, Universidade de Juiz de
Fora. Juiz de Fora, MG, 2002.
________. Religies de matriz africana em Juiz de Fora: trajetrias, alianas e conflitos.
Tese (Doutorado em Cincia da Religio) - Programa de Ps-graduao em Cincia da
Religio, Universidade de Juiz de Fora. Juiz de Fora, MG, 2009.
GIUMBELLI, Emerson. Zlio de Moraes e as origens da umbanda no Rio de Janeiro. In:
SILVA, Vagner G. (Org.). Caminhos da alma. So Paulo, Summus, 2002. (Memria afro-
brasileira, v. 1)
GOLDMAN, Mrcio. Formas do saber e modos do ser: observaes sobre multiplicidades
e ontologia no candombl. Religio e Sociedade, v. 26, n. 2, p. 102-120, 2006.
HOORNAERT, Eduardo, Histria da Igreja no Brasil. Petrpolis, Paulinas, 1992.
LANDES, R. A cidade das mulheres. Rio de Janeiro, Ed. UFRJ, 2002.
LATOUR, B. Jamais fomos modernos. So Paulo, Ed 34, 2005.
________. Changer de societ refaire de la sociologie. Paris, La Decouverte, 2006.
MACHADO FILHO, Aires da Mata O Negro e o garimpo em Minas Gerais. Rio de Janeiro,
Editora Civilizao Brasileira, 1964.
MAGGIE, Yvonne. Medo do feitio: relaes entre magia e poder no Brasil. Rio de
Janeiro: Arquivo Nacional, 1992.
MENDONA, Renato. A influncia africana no portugus do Brasil. So Paulo:
Companhia Editora Nacional, 1935. 255 p.
MONTERO, Paula. Religio, Pluralismo e esfera pblica no Brasil. Novos Estudos, n. 74,
mar. 2006.
PRANDI, Reginaldo. Os candombls de So Paulo. So Paulo, HUCITEC/EDUSP, 1991.
RABELO, Miriam C. M. Rodando com o santo e queimando no esprito: a dinmica de
lugar no candombl e pentecostalismo. Ciencias Sociales y Religin, v. 6, n. 7, p. 11-37,
2005.
281
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 281 25/07/2013 09:08:55
ftima tavares
RAIMUNDO, Jacques. O negro brasileiro: e outros escritos. Rio de Janeiro: Record, 1936.
188 p.
SILVA, Vagner Gonalves. Orixs da metrpole. Petrpolis, Vozes, 1995.
TAVARES, Ftima R. G.; FLORIANO, Maria da Graa. Do canjer ao candombl: notas
sobre a tradio afro-brasileira em Juiz de Fora. In: TAVARES, Ftima. R. G.; CAMURA,
Marcelo A. (Org.) Minas das devoes: diversidade religiosa em Juiz de Fora. Juiz de
Fora, MG: Ed. UFJF; PPCIR, 2003.
WAGNER, Roy. The invention of culture. revised and expanded edition. Chicago: The
University of Chicago Press, 1981.
282
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 282 25/07/2013 09:08:55
PARTE 3
Teraputicas em contexto
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 283 25/07/2013 09:08:55
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 284 25/07/2013 09:08:55
Emoo e moralidade em grupos de gestante
Claudia Barcellos Rezende
As emoes podem ser vistas como um idioma socialmente construdo para
falar das relaes de uma pessoa com os outros e com o mundo. Qualquer teo-
ria local sobre emoo, como Lutz (1988) argumenta, reflete vises mais amplas
de como e por que as pessoas se comportam, sentem, pensam e interagem. Im-
plica tambm definies culturais sobre o modo ideal de estar com os outros,
assim como modelos do que seja uma boa pessoa. Assim, discursos emotivos
fazem mais do que apenas expressar estados subjetivos interiores, como quer
uma etnopsicologia ocidental moderna. Afirmam, negociam ou contestam
tambm vises de mundo e valores morais.
Neste trabalho, examino discursos emotivos apresentados em alguns grupos
de apoio, com nfase em grupos de gestante. Com o objetivo explcito de ajudar
pessoas a lidar melhor com suas dificuldades, estes grupos tratam em ltima ins-
tncia de mudanas no sujeito do seu modo de pensar, sentir e agir. (Munari;
Rodrigues, 1997; Pinheiro et al, 2008; Sartori; Van der Sand, 2004) Em
muitos grupos de apoio, como os que eu analiso aqui, busca-se essa transfor-
mao subjetiva atravs do recurso a gramticas emocionais. Entendo por gra-
mtica emocional a noo de que as emoes formam uma linguagem signos
de expresses compreendidas, nas palavras de Mauss (1980, p. 62). H regras e
sentidos predefinidos que so usados pelas pessoas, que manifestam seus sen-
timentos para si prprias ao exprimi-los para os outros e por conta dos outros.
(MAUSS, 1980, p. 62) Neste sentido, trago aqui tanto a ideia de que os sentimentos
so culturalmente construdos como tambm a viso de que h um conjunto de
regras em torno de sua expresso uma gramtica associado a contextos distin-
tos com os quais os indivduos tm que lidar. Portanto, h uma dimenso moral
presente no modo como estas gramticas so acionadas nos grupos de apoio, que
constri como os indivduos devem dar conta emocionalmente de suas aflies.
285
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 285 25/07/2013 09:08:55
claudia barcellos rezende
Desenvolvo este argumento atravs de alguns estudos sobre grupos de
apoio e de dados de minha prpria pesquisa de campo com um grupo de ges-
tante no Rio de Janeiro, coletados em 2008.1 Por meio de entrevistas e observa-
o participante, estudei mulheres em suas primeiras gestaes que frequen-
tavam um grupo de gestante na zona sul da cidade. As gestantes eram todas
casadas, tinham idades que iam dos 29 aos 41 anos, com uma concentrao
maior em torno dos 30-33 anos, e trabalhavam em ocupaes dos estratos m-
dios. Comparo, ento, os estudos sobre grupos de gestante que apresentam
um discurso baseado em uma gramtica emotiva claramente delineada com
minha experincia de campo em um grupo de gestante frequentado por mu-
lheres de camadas mdias, no qual pude acompanhar negociaes entre as
gestantes em torno de uma gramtica mais sutilmente colocada. A dimenso
moral das dinmicas emotivas est fortemente articulada ao gnero e s cons-
trues de feminilidade a uma maternidade vista como desejada e tambm
a uma viso mais ampla do indivduo nas sociedades ocidentais modernas
como um sujeito que deve estar em controle de si.
Na prxima seo, discuto brevemente o valor dado mudana subjetiva
nas sociedades ocidentais modernas. Analiso em seguida alguns estudos da
literatura biomdica que discutem as prticas e os efeitos dos grupos de apoio,
tomando-os como um material discursivo cujos significados e noes exami-
no aqui. Na seo seguinte, apresento dados da minha pesquisa de campo, em
particular as emoes expressas recorrentemente.
Mudana subjetiva, emoo e moral
Em um pequeno ensaio, Duarte (1999) examina o que chama de dispositivo de
sensibilidade desenvolvido nas sociedades ocidentais modernas a partir do s-
culo XVII. Destaca dois aspectos fundamentais e relacionados deste dispositivo:
a perfectibilidade e a preeminncia da experincia. O primeiro diz respeito
1 Os dados resultam do projeto A experincia da gravidez: corpo, subjetividade e parentesco, apoiado pelo Progra-
ma ProCincia da UERJ e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico (CNPq). Agra-
deo a Myriam Lins de Barros, com quem debati algumas ideias presentes aqui durante sua orientao de meu
ps-doutorado. Uma primeira verso deste trabalho foi apresentada e debatida na IX Reunio de Antropologia
do Mercosul em Curitiba, julho de 2011, com o ttulo de Grupos de apoio: subjetividade e gramticas emocionais.
286
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 286 25/07/2013 09:08:55
emoo e moralidade em grupos de gestante
ideia de que os seres humanos so dotados de uma capacidade de se aperfeio-
ar indefinidamente. Contudo, a perfectibilidade s se realiza atravs da expe-
rincia com o mundo exterior. Esta se d atravs dos sentidos, entendidos tan-
to como veculo de instruo das atividades da mente raiz da razo, como
emoes e paixes. (DUARTE, 1999, p. 25) Assim, o movimento de aperfeio-
ar-se implica em relacionar-se com o mundo pela razo e pelas emoes.
Esses temas podem ser encontrados nos grupos de apoio, presentes no co-
tidiano das sociedades ocidentais modernas. Apesar das diferentes temticas
desde adies e doenas gestao , h em comum na maior parte deles,
como disse acima, a percepo de que seus participantes experimentam di-
ficuldades e crises e que buscam apoio e muitas vezes mudanas subjetivas.
Aparece aqui a viso de uma subjetividade no apenas capaz de se modificar,
mas principalmente que toma isso como um aperfeioamento de si, processo
ento valorizado. Alm disso, esta transformao se opera na dimenso emo-
cional, atravs de novas formas de sentir ou de controle dos afetos.
Essas mudanas tendem a buscar a adequao das emoes a modelos
considerados apropriados a cada contexto, como revelam alguns estudos re-
centes sobre dinmicas de grupos, seja de um grupo de apoio formalizado, seja
em cursos de capacitao e formao. Menezes (2004), em seu estudo sobre
uma unidade de Cuidados Paliativos, voltada para pacientes em situao limi-
te, analisa como a preparao para a boa morte destes implica em uma peda-
gogia de suas famlias. Com reunies semanais, a equipe de profissionais do
hospital busca desenvolver nos familiares a exteriorizao de certos sentimen-
tos de forma controlada a raiva, por exemplo, sujeita a controle. Rosistolato
(2011) examina programas de formao de orientadores sexuais e mostra como
deve ser um aprendizado no emocional das questes em torno da sexuali-
dade. Nas dinmicas dos cursos de capacitao, os professores devem soltar
suas emoes para que possam depois orientar alunos. Em seu estudo clssico
sobre casais grvidos na dcada de 1980, Salem (2007) discute como os cursos
de preparao para o parto sem dor trabalham as emoes do casal, com a
inteno de afastar as emoes nefastas, como a raiva, o medo e a ansiedade,
que podem interferir no trabalho de parto.
Nestes trabalhos, h a viso no apenas das emoes como construes
sociais pautadas por regras culturais, mas tambm de que tais dinmicas de
287
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 287 25/07/2013 09:08:55
claudia barcellos rezende
grupo buscam uma mudana no indivduo que deve se operar principalmen-
te por uma via emocional. interessante, neste sentido, observar que apesar
da razo/mente ser considerada muitas vezes o elemento definidor do sujeito
(Salem, 1992; Cond, 2011), parece no ter, contudo, fora suficiente para mu-
dar o sujeito substantivamente. Ficam ntidos, assim, os termos conceituais
acionados nestes grupos subjetividade remete ao que seria de cada indivduo,
que por sua vez teria nas suas emoes sua verdade interior. (Lutz, 1988) Deste
modo, o aperfeioamento individual, aspecto central e valor na viso ocidental
moderna de pessoa, parece se efetivar principalmente pelas emoes.
Esta noo de mudana subjetiva ganha uma dimenso moral em dois sen-
tidos. Primeiro, torna-se parte de uma configurao tica que conforma um
determinado modo de ser, estar e representar o mundo. (Salem, 2007) Assim,
a transformao subjetiva implicada no dispositivo de sensibilidade apresen-
tado por Duarte necessariamente moral tanto porque coloca a prpria mu-
dana como algo a ser alcanado continuamente quanto porque sugere uma
direo a ser seguida para o avano. Segundo, o aperfeioamento subjetivo
se d atravs da modificao das formas de sentir que so modeladas e ajus-
tadas de acordo com cada contexto. Assim, h sempre noes sobre emoes
positivas a serem buscadas e sentimentos problemticos a serem deixados
de lado no processo de transformao subjetiva. Veremos a seguir como a an-
siedade um destes sentimentos que visto como causa de aflio e que deve
ser trabalhado nos grupos de apoio.
Os grupos de apoio na literatura biomdica
A literatura biomdica sobre grupos de apoio, com muitos estudos na rea de en-
fermagem, recorre a fundamentos da psicologia social, principalmente da tera-
pia de grupos, para analisar e avalizar seus efeitos. Segundo Munari e Zago (1997),
grupos de apoio ou suporte so como aqueles que se constituem com a partici-
pao de um profissional e cujo tipo de trabalho desenvolvido definido pelo
objetivo do grupo. H, nestes, flexibilidade na dinmica do grupo na medida em
que os participantes apresentem suas necessidades. Neste sentido, os grupos de
apoio se distinguem de grupos de autoajuda, que se caracterizam pela formali-
dade de sua dinmica e pela no participao efetiva de um profissional de sade.
288
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 288 25/07/2013 09:08:55
emoo e moralidade em grupos de gestante
De acordo com esta literatura, os grupos de apoio podem ter uma funo
teraputica ao reunir em torno de um objetivo e tema especficos um conjunto
de pessoas vivenciando crises ou se adaptando a mudanas e novas condies
de vida. (Munari; Rodrigues, 1997) A troca de informaes, experincias e
sentimentos vista como um auxlio diminuio da ansiedade gerada nestas
situaes, como afirma Pichon-Rivire (2000):
[...] pela mobilizao das estruturas estereotipadas por causa do montante
de ansiedade que desperta a possibilidade de mudana, chegamos a captar
no aqui-agora-comigo e na tarefa do grupo um conjunto de experincias, afe-
tos e conhecimentos com os quais os participantes do grupo pensam e atu-
am tanto em nvel individual como grupal. (apud Sartori; Van der Sand,
2004, p. 143)
Nestes grupos, a transmisso e a troca de informaes no so vistas como
suficientes para a mudana de comportamento desejada e esperada, embora
seja parte importante da dinmica grupal. (Sartori; Van der Sand, 2004)
Entretanto, na medida em que a informao atua para tornar mais familiar
uma situao desconhecida, tida como elemento que ameniza a ansiedade
e traz tranquilidade.2
Outro elemento destacado nestes estudos a possibilidade dos grupos de
apoio fornecerem no apenas novos vnculos sociais, mas principalmente no-
vas fontes de identificao. Uma vez que os participantes de um grupo encon-
tram pessoas com experincias e sentimentos semelhantes, possvel sentir-
-se acolhido e compreendido pelo grupo, promovendo assim um sentimento
de pertencimento ao grupo (Sartori; Van der Sand, 2004) e de integrao
social. (Pinheiro et al, 2008) Assim, a sociabilidade e o acolhimento pelo gru-
po so vistos tambm em termos dos efeitos emotivos para os participantes
desses grupos.
Podemos ver a importncia da dimenso emocional no processo de mu-
dana em alguns estudos especficos. Por exemplo, Pinheiro et al (2008) anali-
sam um grupo voltado para pacientes que tiveram cncer de mama, em Forta-
leza. Para as mulheres entrevistadas, o grupo possibilitava trocar experincias,
2 Destaco essa associao entre informao e diminuio da ansiedade, pois em minhas entrevistas encontrei a
viso oposta.
289
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 289 25/07/2013 09:08:55
claudia barcellos rezende
receber informaes, desenvolver atividades de lazer e ter apoio social, dimi-
nuindo e at revertendo a sensao de excluso social. Nos encontros, havia
a constatao de que outras no estavam sozinhas e esta percepo de seme-
lhana e afinidade com outras mulheres por sua vez promovia o compartilha-
mento de sentimentos, entre eles, a ansiedade. Para as autoras, esta emoo
est relacionada percepo do cncer como doena imprevisvel e incerteza
de sua cura, e a procura de pessoas na mesma situao de ansiedade decor-
re da necessidade de estabelecer uma realidade social que sirva de base para
avaliar a justificao do sentimento. (PINHEIRO et al, 2008, p. 4) De forma se-
melhante, a experincia do grupo vista como um modo de diminuir a dor e
o sofrimento fsicos e emocionais decorrentes do tratamento e da cirurgia de
retirada da mama.
O trabalho no grupo de apoio buscava promover, assim, uma transforma-
o psicossocial da mulher paciente de cncer. O grupo funcionava como um
fator de integrao social, criando no apenas um espao de sociabilidade,
mas tambm de identificao entre as mulheres, que com isso construam no-
vas identidades sociais. De um modo geral, na viso das autoras, a convivn-
cia em grupo propicia em cada indivduo uma modificao constante, que por
meio da interao com os demais, se mostra dinmica e contnua; mudam-se
os hbitos, os pensamentos, os sentimentos e transformam-se comportamen-
tos numa relao amigvel e no de imposio. (PINHEIRO et al, 2008, p. 6)
As mesmas caractersticas so apontadas por Sartori e Van der Sand (2004)
em seu trabalho sobre um curso de preparao para o parto e noes de pue-
ricultura, realizado pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio
Grande do Sul (UNIJU) e denominado pelas autoras de grupo de gestante.
Com dados de entrevistas feitas com participantes deste grupo cinco ges-
tantes, uma av e um pai , as autoras analisam positivamente os efeitos desta
participao: um espao para troca de informaes e experincias e criao de
vnculos sociais.
Neste estudo, a gravidez considerada uma fase em que a mulher e seu
companheiro passam por vrias mudanas corporais, no caso da mulher,
emocionais e sociais, para o casal para se adaptar a novos papis. Por isso,
Sartori e Van der Sand (2004) entendem que a gestao um perodo de crise,
por constituir-se num momento de transio do que est em vigor, para o que
290
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 290 25/07/2013 09:08:55
emoo e moralidade em grupos de gestante
ir vigorar, re-significando vivncias. Este processo de adaptao mobilizaria
emocionalmente o casal, podendo, por sua vez, gerar ansiedade e medo.
A ansiedade na gestao seria o principal sentimento a ser expresso e discu-
tido no grupo de gestante. Por um lado, as autoras consideram-na importante
para a elaborao dos novos papis de me e pai, tornando-se um mecanis-
mo de segurana patolgica. Por outro lado, justamente a respeito dessas
ansiedades que trabalha o grupo de gestantes, oferecendo a oportunidade para
as pessoas elaborarem a melhor forma de minimiz-las, atravs do comparti-
lhamento das mesmas. (Sartori; Van der Sand, 2004) Alm do comparti-
lhamento de sensaes, informaes sobre as situaes futuras da gestao e
o ps-parto trariam maior tranquilidade gestante. Na viso das autoras, este
tipo de informao no sugestiona as pessoas, ao contrrio, previne a instala-
o de ansiedades desnecessrias, provocadas pelo desconhecimento das situ-
aes prprias da gravidez, parto e puerprio. (Sartori; Van der Sand, 2004)
Assim, o trabalho realizado no grupo de gestante visa diminuir a ansiedade
e o medo e desenvolver a tranquilidade para que a mulher tenha segurana no
parto e ps-parto. Busca, em ltima instncia, uma mudana da gestante em
relao a si mesmo, em relao s pessoas sua volta e com relao ao meio
em que vivemos. (Sartori e Van der Sand, 2004) Na avaliao das autoras, o
grupo atinge este objetivo e tem, portanto, funo teraputica de assistir pessoas
em um momento de crise.
Com esta breve reviso, destaco alguns pontos em comum nestes estudos
sobre grupos de apoio. Primeiro, h como ponto de partida a ideia de uma trans-
formao psicossocial necessria a quem busca este tipo de suporte. Segundo,
esta ocorreria atravs da aquisio de novos conhecimentos, da modificao
de certos sentimentos e tambm da criao de novas fontes de identificao,
atravs das redes sociais. Apesar da conjuno de mudanas de ordem cogni-
tiva e afetiva, nas emoes com destaque dado ansiedade como objeto de
trabalho que os grupos atuariam principalmente. Em todos, a ansiedade o
sentimento a ser minimizado, como parte da resoluo das aflies e da busca
de uma nova forma de ser. Desenvolvo mais este argumento a seguir com os
dados de minha pesquisa de campo.
291
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 291 25/07/2013 09:08:55
claudia barcellos rezende
Felicidade e ansiedade em um grupo de gestante
O grupo de gestante que acompanhei no Rio de Janeiro era coordenado por uma
psicloga e professora de ioga que trabalhava com gestantes h vinte anos. Os
encontros do grupo aconteciam duas vezes por semana e tinham sempre uma
sesso de ioga, com exerccios de relaxamento e preparao para o parto. Uma
vez por semana havia, aps a ioga, uma sesso de troca de informaes e expe-
rincias, conduzida pela coordenadora do grupo, e nesta parte era esperada a
participao dos maridos, que vinham ocasionalmente. A principal razo ex-
pressa para buscar um grupo de gestante era a vontade de trocar experincias
com outras gestantes. Para algumas, a prtica da ioga como forma de melhorar
desconfortos fsicos da gravidez e de se preparar fisicamente para o parto havia
sido um motivo forte para entrar no grupo.
Nas sesses acompanhadas, havia sempre um breve questionamento sobre
o estado das gestantes e era proposto um assunto, pela coordenadora ou pelas
gestantes, a ser tratado, em geral, pela discusso e, s vezes, com dramatiza-
es e desenhos. No perodo estudado, discutiram-se temas diversos, como a
alimentao durante a gravidez, o parto, o ps-parto, a amamentao, o enxoval
necessrio, os cuidados com o beb recm-nascido e a escolha da bab ou cre-
che pela me que volta a trabalhar.
Havia frequentemente uma tonalidade moral nos comentrios que permi-
tia entrever um modelo de maternidade como ideal para essas mulheres, que
implicava tambm certas percepes do feto. Este j era tratado como um beb,
com nome desde o quarto ms de gestao. Com uma concepo psicologizada
do feto, como denominou Lo Bianco (1985), o nenm era visto, assim, como
um sujeito com vontades e desejos a serem atendidos sempre que possvel
evitar posies que ele no gostava, ter um tempo s para ele nos encontros
do grupo. A gestante deveria evitar durante a gravidez ingerir qualquer coisa
que fizesse mal ao beb, mesmo que fosse para seu alvio ou prazer. Mesmo no
parto, que para o grupo deveria idealmente ser normal, havia o desejo de no
receber anestesia, ou tomar o mnimo possvel, para no afetar o beb.3
3 Rohr e Schwengber (2010) tambm discutem a produo de ideias em torno da me responsvel em um
grupo de gestante promovido em um ambulatrio estadual no Rio Grande do Sul.
292
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 292 25/07/2013 09:08:55
emoo e moralidade em grupos de gestante
O parto normal era valorizado tambm por ser importante para a mulher.
Apesar de muitas temerem sentir dor, algumas achavam que no passar pelas
dores do trabalho de parto tornava-as menos mulher. Ou seja, o parto cesrea
era igualado a no parir. De forma semelhante, a amamentao preocupava
por possveis problemas no ter leite, o beb no pegar o peito, sentir dor ,
mas todas achavam que usar mamadeira tambm representava a perda de uma
experincia significativa da maternidade. No mesmo tom, deixar o beb aos
cuidados de uma bab era a alternativa mais criticada pelas gestantes. Uma de-
las criticou uma amiga que sempre levava a bab de seus filhos para onde fosse
e que esta fazia coisas que a me deveria fazer. Todas estas vises apareciam
qualificadas, principalmente pela coordenadora, como sendo da natureza da
mulher, como etapas e sensaes que deveriam ser vivenciadas.
Este ideal de maternidade aparecia combinado a um modelo de paternidade,
no qual os homens deveriam participar o mximo possvel da gravidez, parto e
ps-parto. Embora frequentassem pouco os encontros do grupo apenas um
frequentou trs sesses durante a pesquisa , quando foram, receberam instru-
es para auxiliar suas mulheres no trabalho de parto, assistiram vdeos de parto,
fizeram exerccios de cuidado dos bebs. Apesar de falarem pouco em geral e
de si prprios, ao contrrio do casal grvido estudado por Salem (2007), todos
pareciam valorizar receber as informaes e dicas da coordenadora. Um deles
expressou alvio ao saber que as preocupaes e sensaes de sua mulher no
eram particulares a ela, mas das gestantes de um modo mais amplo.
Este modelo de maternidade a me que se dedica ao beb e suporta dor
por ele foi reforado pelo sentimento de felicidade por duas vezes, em duas
dinmicas de grupo propostas pela coordenadora. Em um dos encontros, a co-
ordenadora props que, como forma de apresentao, cada participante res-
pondesse de forma curta pergunta: quem voc?. Neste dia eram cinco ges-
tantes e todas repetiram o roteiro usado pela primeira, Tatiana,4 que disse seu
nome, sua idade, sua profisso. Descreveu-se tambm como me de primei-
ra viagem de uma menina, muito realizada com a gravidez e muito contente
com o grupo. As seguintes recorreram tambm expresso me de primeira
viagem e disseram-se felizes com a gravidez. Na outra dinmica mencionada,
4 Os nomes so fictcios.
293
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 293 25/07/2013 09:08:55
claudia barcellos rezende
as gestantes tinham que completar o incio de vrias frases sobre o ps-parto,
dentre elas a sentena: meu beb nasceu e eu.... Muitas das presentes termi-
naram com a orao eu estou feliz. Assim, tanto a gravidez quanto o nasci-
mento do filho eram eventos que causavam, ou deveriam causar, felicidade,
sentimento manifestado pelo grupo como um todo.
Entretanto, embora este modelo de maternidade aparecesse nos encontros
como consensual, contrastava com as emoes mais regularmente expressas
a ansiedade e o medo. A ansiedade aparecia em geral difusa, associada ao des-
conhecimento das mudanas em vrias etapas da gestao. Como seria o final
da gravidez haveria muitos incmodos? No saber como seria o parto desde
o reconhecimento dos primeiros sinais do trabalho de parto at o ps-parto
era outra fonte importante de ansiedade. Depois, havia as dvidas em torno do
beb como seria a relao inicial com ele e, posteriormente, o retorno ao tra-
balho? Era a ansiedade que em geral justificava a busca pelo grupo de gestante,
pois as trocas de experincias com outras gestantes e as tcnicas da ioga eram
vistas como positivas para ajudar a diminu-la.
O medo costumava ter foco mais especfico. Havia o medo de perder o
nenm no incio da gestao e tambm no parto; o medo do parto normal das
dores do trabalho de parto, do corte na hora da expulso, do uso de frceps ; o
medo do parto cesrea da reao anestesia, de algum imprevisto na cirurgia,
da dor do ps-operatrio ; o medo da amamentao de sentir dor ao ama-
mentar, do leite empedrar ; e o medo do marido perder o interesse sexual na
mulher aps o parto, em funo de o corpo estar fora de forma. Havia ainda
medos mais pessoais, como o de uma gestante que tinha medo de ficar calma
demais na hora do parto, ou de outra que teve medo que sua av, que estava
doente, falecesse antes do seu parto.
A ansiedade e o medo em relao ao parto apareceram de forma clara em
uma dramatizao de parto cesrea. Ana, que estava se despedindo do grupo j
no final de sua gravidez, queria ter parto normal e tinha medo de ter parto ces-
rea. Foi a partir deste medo que a coordenadora sugeriu realizar uma vivncia
deste tipo de parto, que descrevo abaixo:
Ficaram as duas Ana e a coordenadora de p, andando pela sala. Come-
aram imaginando que dia seria (05 de outubro), hora do dia (de manh), onde
estaria (em casa) e o que estaria sentindo. Ana falou que a bolsa teria estourado
294
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 294 25/07/2013 09:08:55
emoo e moralidade em grupos de gestante
e a coordenadora perguntou como ela saberia. De um modo geral, Ana ria, pas-
sava a mo na barriga constantemente e no respondia direito s perguntas da
coordenadora ou era vaga. As contraes comearam, mas Ana no sabia dizer
quanto tempo duravam nem o intervalo delas. Falaria com a mdica que diria
que estava tudo bem, para esperar um pouco antes de ir para o hospital. Ela esta-
ria calma, mas seu marido estaria nervoso, pois ele sempre mais preocupado
com as coisas do que ela. Depois de algum tempo, j no incio da tarde, Ana sabia
que as contraes estavam mais frequentes, mas no sabia dizer mais que isso.
Eles j tinham avisado me dela e aos sogros, e ela foi para o hospital com o
marido. Ela comentou que tinha medo de ter que ir para o hospital de noite e ter
que subir a ladeira do hospital, que parece ter uma favelinha por perto. Ao chegar
no hospital, Ana ficaria sabendo que a nenm estava deitada e no poderia ser
parto normal. Como saberia isso? A mdica ia examinar e dizer isso. Ana ento
ficaria apavorada, mas a mdica a tranquilizaria dizendo que ia correr tudo bem.
A coordenadora perguntou sobre a posio para tomar anestesia, e Ana j sabia e
se deitou de lado, com as pernas dobradas. Depois, j na sala de parto, a coorde-
nadora disse para ela que teria que deitar-se de costas, com os braos abertos e as
pernas esticadas. Explicou o que estaria em cada mo dela, que dariam belisces
na barriga para ver a sensibilidade, passariam polvedine na barriga e a fariam o
corte. Simulou a sada do beb e perguntou a Ana como ela estaria. Ana achava
que ia chorar muito nessa hora. Disse que estaria bem, pois o que importava no
era o tipo de parto, mas sim o fato da nenm nascer bem.
Esta vivncia contrastou bastante com uma feita anteriormente, no
apenas pelo tipo de parto dramatizado normal , mas principalmente pelo
comportamento de Paula, que, como Ana, j estava no nono ms de gravidez
e se despedia do grupo. Paula estava muito tranquila e bem informada sobre
os estgios do parto, respondendo rapidamente a todas as questes colocadas
pela coordenadora com muitos detalhes e clareza. Ana, por sua vez, logo ex-
pressou no incio do encontro seu medo de ter um parto cesrea e a sugesto
da vivncia pela coordenadora teve o intuito de esclarecer como seria e, qui,
atenuar seu medo. Durante a dramatizao, Ana ria um pouco aflita e tinha di-
ficuldade de responder s perguntas. Emoes mais intensas pontuaram seu
relato tinha medo de chegar ao hospital noite, se apavorava diante da notcia
da necessidade de cesrea, chorava quando o nenm nasce , em contraste com
295
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 295 25/07/2013 09:08:56
claudia barcellos rezende
a vivncia de Paula, que se via calma, ainda que cansada. Paula parecia estar em
controle da situao de suas emoes, do seu corpo, do parto como um todo ,
de forma distinta de Ana, que no sabia bem como ia ser e que imaginava vrias
emoes fortes durante a vivncia.
Paula foi uma exceo entre as gestantes que acompanhei. Foi a nica ges-
tante que vi, durante o perodo estudado, se apresentar de forma calma, sem
expressar preocupao com dor, medo ou ansiedade. Aps sua representao,
as outras comentaram que no conseguiriam no tomar anestesia, pois no
tinham o domnio do corpo que Paula e a coordenadora apresentavam por j
fazerem ioga h mais tempo, e por isso sentiam mais dor. Seu controle do cor-
po fazia crer que sentir dor no era uma preocupao nem motivo de medo. O
que as outras gestantes expressavam que, mesmo com as sesses de ioga, no
tinham segurana sobre seu corpo, da o medo de sentir dor.
Neste sentido, as duas dramatizaes podem ser vistas como tentativas ou
ensaios de tomada de controle das gestantes sobre uma experincia ainda
no vivida, atravs do processo de definir todos os elementos do processo dia,
hora, local, participantes e desenrolar do parto. So tambm apresentaes das
emoes que elas esperavam sentir na hora do parto ansiedade, medo, dor e,
ao final, felicidade. A calma e tranquilidade de Paula foram excepcionais e, por
isso mesmo, reforavam, por contraste, os sentimentos esperados como mais
normais, a serem vividos tambm com uma intensidade maior.
Assim, a felicidade mencionada na dinmica de apresentao falava de
um estado valorizado socialmente para as mulheres a gravidez como ante-
cipao da maternidade, e por isso desejado por muitas. Por outro lado, havia
ansiedade e medo pelas mudanas por vir corporais, subjetivas, conjugais
e familiares, no final da gestao, no parto e depois, que pareciam, de algum
modo, pr em questo a maternidade (que seria seu desejo, seu ideal). Compa-
rativamente, estes sentimentos estavam mais presentes do que o primeiro e
pareciam assim to modelares quanto ele. No foi toa que a calma apresen-
tada por Paula causou estranhamento, como se o normal fosse mesmo estar
muito ansiosa e temerosa.
296
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 296 25/07/2013 09:08:56
emoo e moralidade em grupos de gestante
Consideraes finais
H trs pontos que gostaria de ressaltar nesta seo final. Primeiro, existe uma
gramtica emotiva operando no contexto dos grupos de gestante em questo.
Segundo, no cerne desta gramtica esto os sentimentos de ansiedade e medo.
Por ltimo, a mudana subjetiva esperada nestes grupos implica principal-
mente uma alterao e nova adequao nos modos de sentir a reduo da an-
siedade e do medo para a vivncia de uma boa gravidez. Em todos estes pontos,
h um carter moral implicado.
Primeiro, os grupos de gestante estudados por mim e por Sartori; Van der
Sand (2004) tomam como foco de interveno a ansiedade e o medo. Mesmo
trinta anos atrs, Salem (2007) mostrou como o grupo de casais grvidos anali-
sado buscava um trabalho com emoes e sentimentos. Ao longo do curso, os
participantes eram estimulados a expressar suas emoes em relao gravi-
dez, em particular aquelas consideradas nefastas ansiedade, medo, descon-
trole. A nfase dada pelos coordenadores mdicos e psiclogos estava na
colocao das emoes em discurso (SALEM, 2007, p. 116), tanto pela gestante
quanto por seu companheiro, para que o parto natural almejado transcorresse
sem dor e com segurana.
curioso que, nas entrevistas que fiz com mulheres grvidas que no par-
ticipavam de grupos de gestante, o sentimento de ansiedade tem menos fora,
ou seja, divide presena com vrios outros, como a irritao, a curiosidade, e
em alguns casos nem aparece. Mesmo aquelas que frequentavam o grupo pes-
quisado, quando entrevistadas em casa, falaram mais de outras emoes. Ou
seja, mesmo que a ansiedade fosse sentida e expressa com os sentidos ana-
lisados acima, o contexto da entrevista, cujo eixo estava na experincia sub-
jetiva da gravidez, produzia relatos mais heterogneos, mais singulares, em
contraste com um comportamento mais homogneo nos encontros do grupo
de gestante.
Podemos pensar, ento, que h nesses uma gramtica das emoes senti-
mentos que devem ser expressos naquele contexto particular por serem vistos
como os mais adequados. Como argumentou Mauss (1980, p. 62), os sentimen-
tos formam uma linguagem, sendo assim uma expresso de carter coleti-
vo e obrigatrio: Faz-se, portanto, mais do que manifestar os sentimentos,
297
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 297 25/07/2013 09:08:56
claudia barcellos rezende
manifesta-se-os para os outros porque preciso manifest-los para eles. As
pessoas manifestam seus sentimentos para si prprias ao exprimi-los para os
outros e por conta dos outros.
Neste sentido, a busca por um grupo de apoio sendo o grupo de gestante
um desses devia ser principalmente motivada, como visto na literatura bio-
mdica pela experincia de situaes que geravam ansiedade. No caso do gru-
po de gestante, a expectativa se confirmava com expresses recorrentes deste
sentimento, considerado, ento, normal s mulheres grvidas.
Por que seria a ansiedade o sentimento esperado no grupo de gestante,
para ser manifestado para si e para os outros, como diz Mauss?5 Discuti em
outro trabalho (Rezende, 2011) como, em uma revista especializada para ges-
tantes, a gravidez aparecia como um estado emotivo, particularmente marcado
pela ansiedade e pelo medo. O foco dado a estas emoes parece se relacionar
vivncia de uma experincia corporal desconhecida e, com isso, da dificuldade
de no ter controle sobre o corpo, em uma sociedade e poca nas quais o con-
trole de si elemento chave. Mais ainda, estes sentimentos apontam tambm
para uma relao desnaturalizada, mais problematizada, com a maternidade,
j apontada por Arajo e Scalon (2005), em contraste com estudos sobre gera-
es passadas (Almeida, 1987; Lo Bianco, 1985) para as quais ser me era um
papel pouco questionado e central na construo da feminilidade. Se ter filhos
era um desejo de todas as mulheres que estudei, o lugar da maternidade diante
da relao conjugal, da famlia, do trabalho e da prpria autonomia individual
no era claro. Mais ainda, o problema estava no apenas na conciliao destas
relaes com a maternidade, mas tambm com um ideal de me que, como
mostrei, implicava grande dedicao e sacrifcio pelo filho, mantendo tambm
o controle de si. Diante destas tenses, ter questionamentos sobre o futuro
prximo na gravidez seria, ento, normal at mesmo esperado a estas mu-
lheres enquanto parte de uma gerao e de um segmento social especfico6 ,
que os expressavam para si e para os outros atravs da ansiedade. Ou seja,
5 Aprofundo esta anlise sobre a forte presena do sentimento de ansiedade em outro trabalho (REZENDE,
2009).
6 Barros e outros (2009) comparam as expectativas em torno da famlia e do trabalho de trs geraes de mu-
lheres de segmentos mdios, mostrando como as mais jovens problematizam as expectativas tradicionais de
casamento e maternidade.
298
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 298 25/07/2013 09:08:56
emoo e moralidade em grupos de gestante
estar calma e no ter dvidas e certezas sobre a maternidade eram reaes afe-
tivas agramaticais para estas mulheres.
Ao mesmo tempo, este comportamento emocional tambm era algo a ser
modificado de algum modo, da a motivao inicial em buscar o grupo de ges-
tante. Se sentir ansiedade e medo era esperado, parecia haver um limite alm
do qual eles eram vistos como excessivos e, por isso, prejudiciais. Por isso a
preocupao da coordenadora em atenu-los atravs de informaes, tcni-
cas de vivncia e conversa. No estudo de Salem, a ansiedade do casal era vista
como um dos grandes entraves ao parto natural, segundo o mdico que con-
duzia o grupo pesquisado. Todo o trabalho do grupo pretendia, assim, preparar
psicologicamente o casal para o parto, durante o qual se esperava a expresso
de forma adequada de seus sentimentos: Receba seu filho com amor. Aca-
rinhe [...]. Tranquilize o beb. Junte-se ao marido na alegria. (Lins, s.d apud
Salem, 2007, p. 100) Assim, os grupos de gestantes propunham o trabalho
individual desenvolvido em prol de uma boa gravidez e um bom parto
sem dor , no apenas com exerccios fsicos, mas principalmente com uma
adequao emocional de acordo com um modelo das emoes esperadas e de
intensidade normal.
Neste sentido, a deciso de participar de um grupo de gestante refletia uma
inteno de fazer algo pela gravidez preparar para o parto, reduzir a ansieda-
de e o medo, ao invs de simplesmente passar por ela. Havia, neste movimen-
to, o princpio do aperfeioamento de si como um valor moral, discutido por
Salem (2007) e Duarte (1999), que ganhava tons especficos para este segmento
especfico de mulheres. Em consonncia com a prpria opo pela maternida-
de, frequentar um grupo de gestante revelava tambm uma postura mais ativa
da mulher seja para melhorar desconfortos, reduzir a ansiedade e o medo ou
se preparar para o parto e ps-parto, em contraposio ideia de esperar pas-
sivamente um nenm. Significava buscar um maior controle de si elemento
fundamental do modelo vigente de pessoa diante de uma experincia corpo-
ral, emocional e social desconhecida e, assim, no controlvel. Na medida em
que a maternidade deixou de ser para estas mulheres um caminho a ser segui-
do naturalmente, tornou-se uma escolha, algo a ser desejado e conquistado,
com investimentos subjetivos em direo a uma melhoria de si como sujeito
equilibrado e preparao para ser uma boa me.
299
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 299 25/07/2013 09:08:56
claudia barcellos rezende
Referncias
ALMEIDA, Maria Isabel Mendes de. Maternidade, um destino inevitvel? Rio de Janeiro:
Campus, 1987.
ARAJO, Clara; SCALON, Celi. Percepes e atitudes de mulheres e homens sobre a
conciliao entre famlia e trabalho pago no Brasil. In: Arajo, Clara e Scalon, Celi
(Org.). Gnero, famlia e trabalho no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. FGV, 2005.
BARROS, Myriam Lins de. et al. Mulheres, gerao e trabalho. Intersees: Revista de
Estudos Interdisciplinares, v. 11, n. 2, p. 335-351, 2009.
COND, Geraldo Garcez. A dimenso emocional: mdia, emoo e felicidade. In:
Coelho, Maria Claudia; Rezende, Claudia Barcellos (Org.). Cultura e sentimentos:
ensaios em antropologia das emoes. Rio de Janeiro: Contracapa editora, 2011.
DUARTE, Luiz Fernando. O imprio dos sentidos: sensibilidade, sensualidade
e sexualidade na cultura ocidental moderna. In: Heilborn, Maria Luiza (Org.)
Sexualidade: o olhar das cincias sociais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
LO BIANCO, Anna Carolina. A psicologizao do feto. In: Figueira, Srvulo (Org.).
Cultura da psicanlise. So Paulo: Brasiliense, 1985.
LUTZ, Catherine. Unnatural emotions. Chicago: University of Chicago Press, 1988.
MAUSS, Marcel. A expresso obrigatria dos sentimentos. In: Figueira, Srvulo
(Org.). Psicanlise e Cincias Sociais. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1980.
MENEZES, Rachel Aisengart. Em busca da boa morte: antropologia dos cuidados
paliativos. Rio de Janeiro: Garamond/Fiocruz, 2004.
MUNARI, Denize Bouttelet; RODRIGUES, Antonia Regina Furegato. Processo grupal
em Enfermagem: possibilidades e limites. Revista da Escola de Enfermagem da USP,
So Paulo, v. 31, n. 2, p. 237-250, 1997.
MUNARI, Denize Bouttelet; ZAGO, Mrcia Maria Fonto. Grupos de apoio/suporte e
grupos de auto-ajuda: aspectos conceituais e operacionais, semelhanas e diferenas.
Revista de Enfermagem da UERJ, Rio de Janeiro, v. 5, n. 1, p. 359-66, 1997.
PINHEIRO, Cleoneide Paulo Oliveira. et al. Participao em grupo de apoio:
experincia de mulheres com cncer de mama. Revista Latino-americana de
Enfermagem, v. 16, n. 4. jul./ago. 2008. Disponvel em: <http://ead.eerp. usp. br/rlae/>.
Acesso em 5 de fev. de 2013.
REZENDE, C. B.. Ansiedade e medo na experincia da gravidez. In: Reunio de
Antropologia do Mercosul, 8, 2009, Buenos Aires... Anais... Buenos Aires: UNSAM,
2009.
_______. Um estado emotivo: representao da gravidez na mdia. Cadernos Pagu, n. 36,
jan. /jun. , p. 315-344, 2011.
ROHR, Denise Raquel;SCHWENGBER, M. S. V. . Grupos de Gestantes e a produo da
me cuidadosa e saudvel. In: Seminrio Internacional Fazendo Gnero 9: Disporas,
Diversidades, Deslocamentos, 2010, Florianpolis. Anais... Florianpolis: UFSC, 2010.
300
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 300 25/07/2013 09:08:56
emoo e moralidade em grupos de gestante
ROSISTOLATO, R. P. R. Aprendendo no emocional: uma teoria nativa sobre a relao
dos adolescentes com a sexualidade. In: Coelho, Maria Claudia; Rezende, Claudia
Barcellos (Org.). Cultura e sentimentos: ensaios em antropologia das emoes. Rio de
Janeiro, Contracapa Editora, 2011.
SALEM, Tania. Manuais modernos de auto-ajuda: uma anlise antropolgica sobre a
noo de pessoa e suas perturbaes. Rio de Janeiro: IMS/UERJ, p. 1-37, 1992. (Srie
Estudos em Sade Coletiva, 7)
_______. O Casal grvido: disposies e dilemas da parceria igualitria. Rio de Janeiro:
Ed. FGV, 2007.
SARTORI, Graziele Strada; VAN DER SAND, Isabel Cristina Pacheco. Grupo de
gestantes: espao de conhecimentos, de trocas e de vnculos entre os participantes.
Revista Eletrnica de Enfermagem, v. 6, n. 2, 2004. Disponvel em: <http://www.fen. ufg.
br/fen_revista/>. Acesso em: 10 de fev. 2011.
301
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 301 25/07/2013 09:08:56
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 302 25/07/2013 09:08:56
Invertendo a adeso, desdobrando o envolvimento
Envelhecimento, sade mental e o cuidado oferecido
ao paciente confiante
Annette Leibing
Quatro anos atrs, a autora deste artigo foi procurada pela equipe de sade
mental de um centro de sade (CLSC)1 de Montreal, especializado no tratamen-
to de adultos mais velhos, para ajudar a investigar o persistente problema da
no adeso ao tratamento.2 A autora no se sentiu inicialmente atrada pes-
quisa porque o assunto j havia recebido extensa ateno dos estudiosos da
sade pblica e das cincias sociais. Paradoxalmente, o surpreendente nmero
de artigos que apareceram atravs do motor de busca PubMed foi o que final-
mente despertou o interesse da autora em embarcar no projeto. As concluses
de uma meta-anlise publicada por Haynes, McKibbon e Kabani sintetizam as
razes para a mudana de ideia da pesquisadora: embora a adeso tenha sido
estudada intensamente desde os anos 1970,
mesmo as intervenes mais efetivas no levaram a melhorias substanciais
quanto adeso [...] embora a adeso e os resultados do tratamento possam
melhorar por meio de certas geralmente complexas intervenes, os bene-
fcios da medicao no podem ser plenamente atingidos com os nveis atu-
almente alcanveis de adeso. (HAYNES; MCKIBBON; KABANI, 1996, p. 1180)
1 Os CLSCs so clnicas de sade comunitrias geridas pelo governo que oferecem uma gama de servios. Para
uma anlise do movimento CLSC de Quebec, veja Cawley (1996). Para novos desdobramentos, como a fuso
de CLSCs em Centros de Sade e Servios Sociais (CSSSs), ver < http://www.femmescentreduquebec.qc.ca/
uploads/csss.pdf>.
2 Neste artigo, o termo (no) adeso ser empregado quando se tratar do fenmeno geral, e condescendncia
[consentimento/obedincia] e concordncia quando se tratar de contextos especficos para seus respectivos
significados. No entanto, como tem sido argumentado, a diferena entre condescendncia, concordncia e
adeso est radicada na moral mais do que em um raciocnio oritentado pela prtica.
303
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 303 25/07/2013 09:08:56
annette leibing
Depois de ler outros artigos similares, a autora ficou com a questo de
saber se depois de mais de 40 anos de esforo e de milhes de dlares gastos
novas abordagens para a adeso deveriam ser desenvolvidas, ou melhor, se
todo o conceito de adeso precisava ser radicalmente repensado.
Introduo: repensando a adeso
Condescendncia, adeso e concordncia (compliance, adherence e concordance,
em ingls) so trs dos muitos conceitos existentes para descrever as prticas
e as atitudes dos pacientes quanto ao tratamento prescrito. Esta lista nesta
ordem representa tambm uma evoluo da igualdade entre mdico e pa-
ciente: as noes iniciais, autoritrias, de condescendncia do paciente deram
lugar a uma conceituao mais democrtica da adeso a regimentos mdicos.
Na maioria dos textos, o termo adeso agora utilizado como politicamente
correto, embora ainda se utilize condescendncia, como no caso das inds-
trias farmacuticas. (Applbaum, 2009; Trostle, 2000) A mudana de con-
descendncia para adeso demonstra uma crescente conscientizao quanto
s relaes de poder presentes nas interaes entre mdico e paciente, assim
como em relao desconfiana, frequentemente alegada, diante de institui-
es como a biomedicina. No entanto, mesmo o termo mais igualitrio, ade-
so, continua a carregar o resduo do estigma e da culpabilidade (Greene,
2004) comum ao seu antecessor, a condescendncia. (Trostle, 2000) A ade-
so , portanto, o reflexo um tanto inerte da conscincia de um dilema moral,
mais que um conceito fundamentado na prtica (ver abaixo).
Concordncia, um conceito mais recente e sobretudo britnico, parece ter
a inteno de inverter a relao paciente-mdico: da total responsabilidade
dos mdicos ao envolvimento do paciente nas escolhas do tratamento (Ste-
venson, 2004; Stevenson; Scambler, 2005).3 Concordncia [...] se refere
criao de um acordo que respeite as crenas e os desejos do paciente, mais
3 Adeso: A disposio com que o paciente d prosseguimento ao modo de tratamento previsto, sob superviso
limitada, quando confrontado com demandas conflitantes, enquanto algo distinto de submisso ou manuten-
o (THE AMERICAN. .., 2004, 2007). Esta definio mostra uma maior responsabilidade do paciente, enquan-
to a concordncia, teoricamente, parte de um processo que compartilhado tanto pelo profissional de sade
quanto pelo paciente.
304
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 304 25/07/2013 09:08:56
invertendo a adeso, desdobrando o envolvimento
que submisso ao cumprimento das instrues, explicam Marinker e Shaw
(2003, p. 348).
Karnieli-Miller e Eisikovits (2009) chamaram esta insistncia em partilhar
a tomada de deciso de o poder ilusrio de decidir. Concordncia e adeso
esto ambas fundamentadas na premissa de que os indivduos preferem tomar
suas prprias decises no que se refere ao tratamento uma premissa tambm
encontrada na literatura crescente sobre a descentralizao do poder [empo-
werment]. (Rifkin, 2007) Delegar autoridade aos pacientes algo que pode ser
considerado uma meta importante para muitos sistemas de sade, mas tam-
bm possvel que esta linguagem esteja omitindo cortes nos gastos com a
sade; em nome do empowerment, os indivduos podem estar sendo encora-
jados a assumir tarefas anteriormente realizadas pelos profissionais de sade.
A suposio de que os indivduos preferem fazer suas prprias escolhas pode
ser verdadeira em muitas situaes. No entanto, os pacientes e suas famlias
so muitas vezes incapazes de decidir por si mesmos quando se trata de ques-
tes complexas de sade. E provvel que, em situaes de extrema angstia,
pacientes e familiares desejem, mais do que temam, que um profissional de
sade assuma o comando almejando um relacionamento que o bioeticista
Franco Carnevale (2010) chama de paternalismo benfico.4
Para Stevenson e Scambler, a questo da confiana est no cerne da discus-
so a respeito da adeso:
Diz-se que a confiana facilita a cooperao entre as pessoas para alcanar
objetivos comuns [...] por razes complexas, a confiana que as pessoas ins-
tintivamente investiam na expertise profissional vem diminuindo substan-
cialmente, criando pretextos para o ceticismo ou pelo menos para a cautela.
Isto naturalmente problemtico em termos da possibilidade de se alcanar
concordncia. (Stevenson; Scambler, 2005, p. 1)
A confiana, na maioria dos casos, tratada no nvel individual: um foco
comum dos estudos de adeso o paciente sem direito de deliberar. Este enfo-
que ignora a forma como os doentes fazem ouvir seus interesses, por exemplo,
formando grupos de pacientes para negociar melhores tratamentos. (Leibing,
4 Confira tambm Mol (2008) e Grimen (2009).
305
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 305 25/07/2013 09:08:56
annette leibing
2009b; Tournay, 2009) A relao mdico-paciente outro foco frequente da
pesquisa de adeso. Estes estudos comumente no atentam para a presena de
outros indivduos e instituies que influenciam a forma como os tratamen-
tos so disponibilizados, tais como oramentos limitados de sade e interven-
es de sade com fins lucrativos. (Applbaum, 2009; Conrad, 1985; Greene,
2004; Oldani, 2004; Trostle, 1988, 2000)
Este artigo o resultado de um estudo com enfermeiros comunitrios que
trabalham com idosos pacientes de sade mental em Quebec; um estudo sobre
como esses enfermeiros se referem adeso. Os enfermeiros so figuras cen-
trais na maioria dos sistemas de sade; eles so a linha de frente profissional
diretamente envolvida em auxiliar os pacientes na adeso aos seus tratamentos.
A importncia dos enfermeiros para a adeso tambm se revela em alguns inte-
resses da indstria farmacutica (BIG Pharmas..., 2006; Jutel; Menkels 2008,
2009), ligados decrescente influncia de seus representantes de vendas. Se-
gundo o artigo da Business Week, Big Pharmas nurse will see you now (2006), mui-
tos mdicos esto limitando seus encontros com os representantes a apenas
90 segundos, por causa do nmero cada vez maior de visitas.5 A proximidade
dos enfermeiros em relao aos seus pacientes coloca-os em uma posio pri-
vilegiada para o aconselhamento a estes. No entanto, aumentar a adeso de ido-
sos pacientes de sade mental parece ser uma tarefa especialmente difcil para
enfermeiros e pacientes.
Pessoas mais velhas, adeso e sade mental
Os enfermeiros entrevistados no presente estudo trabalham com indivduos
mais velhos com problemas de sade mental. Os especialistas concordam que
a no adeso pode representar um risco maior para os idosos, resultando em
5 Jutel e Menkes (2008, 2009) em suas anlises da literatura cientfica sobre enfermeiros que recebem presen-
tes da indstria farmacutica escrevem que os enfermeiros parecem aceitar prontamente o patrocnio da
indstria, em parte porque parecem se sentir valorizados e mais iguais aos mdicos por meio desses presentes.
Os autores tambm afirmam que geralmente falta pensamento crtico em Enfermagem e insistem em uma
melhor formao a este respeito. Nos EUA, embora isso aparea menos no Canad, os enfermeiros so contra-
tados diretamente pelas indstrias farmacuticas para educar os pacientes a aderir ao tratamento, diminuindo,
assim, a no adeso e as perdas para os fabricantes de medicamentos. Estes enfermeiros patrocinados pela in-
dstria parecem preencher uma lacuna bastante necessria ao sistema de sade dos EUA, e so positivamente
avaliados por mdicos e pacientes. (BIG PHARMAS NURSE ..., 2006)
306
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 306 25/07/2013 09:08:56
invertendo a adeso, desdobrando o envolvimento
um pior controle da doena, o que pode ser agravado por morbidade mltipla
e polifarmcia. (Hughes, 2004, p. 795) Os riscos seriam ainda maiores em
indivduos mais velhos que sofrem de problemas de sade mental. H uma s-
rie de razes pelas quais os profissionais de sade consideram este grupo de
pacientes particularmente desafiador em relao adeso ao tratamento. Uma
vez que a adeso est basicamente ligada utilizao de medicamento objeto
essencial na maioria das intervenes relacionadas sade , os efeitos adver-
sos em adultos mais velhos precisam ser compreendidos. Metabolicamente, as
pessoas mais velhas so mais sensveis a certos medicamentos (geralmente
testados em jovens adultos), levando-as algumas vezes a abandonar o trata-
mento, mesmo quando a receita correta foi prescrita. (Feely; Coakley, 1990;
Lima et al. 2005) Alm disso, o grande nmero de medicamentos prescritos
aos idosos aumenta a possibilidade de interaes medicamentosas imprevis-
tas. No Canad, os idosos consomem uma mdia de trs medicamentos si-
multaneamente (Rogowski; Lillard; Kington, 1997; HEALTH REPORTS...,
2006); nos EUA, foi reportada uma mdia de cinco medicamentos (Qato et al,
2008; Tamblyn, 1996). Um estudo realizado por Beijer e de Blaey (2002) mostra
que a probabilidade de hospitalizao por problemas relativos a reaes adver-
sas a medicamento (ADR) quatro vezes maior para idosos do que para jovens
(16,6% contra 4,1%).
Vrios autores tm chamado a ateno para o fato de que as elevadas taxas
de uso de medicamento entre idosos no podem ser explicadas apenas por ne-
cessidades clnicas.6 Damestoy, Collin e Lalande (1999) mostraram que grande
parte das prticas mdicas de prescrio est baseada em atitudes fundamen-
talmente negativas, ou mesmo preconceituosas, em relao s pessoas mais ve-
lhas, o que justifica (para os mdicos) o uso prolongado de medicamentos sem
muita preocupao quanto a efeitos colaterais. Em uma meta-anlise, Voyer
et al. (2004) descobriram que os estudos norte-americanos com pessoas de
65 anos ou mais, residentes na comunidade, indicaram que 20% a 48% dessas
pessoas usavam medicaes psicotrpicas, e que mais da metade delas estava
tomando psicotrpicos h mais de seis meses. Este nmero paradoxalmente
elevado, dada a menor prevalncia de transtornos mentais em comparao com
6 Como exemplo, ver Collin (2001, 2003).
307
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 307 25/07/2013 09:08:56
annette leibing
pessoas mais jovens, que, no entanto, tomam menos medicao psicotrpica
do que as pessoas mais velhas. (Preville et al., 2001)
Os profissionais de sade poderiam supor que falta discernimento aos
doentes mentais (Applbaum, 2009; Maxmin et al., 2009), o que, portanto,
explicaria a no adeso como parte de um problema de sade mental. Este
especialmente o caso para pessoas idosas com tais problemas, uma vez que
esta faixa etria est fortemente associada doena de Alzheimer e a outras
demncias. A associao dos idosos demncia vai alm das reais taxas de
preponderncia; Adelman (1995) chamou isto de Alzheimerizao do envelhe-
cimento. Outro esteretipo frequente o de que as pessoas mais velhas so
mais teimosas e desprovidas de flexibilidade, o que faz com que suas deficin-
cias de sade mental paream ao profissional de sade mais difceis de lidar.
(Brodaty; Draper; Low, 2003)
Por fim, uma vez que as intervenes de sade em Quebec so compar-
timentadas (como em outros lugares), as questes de responsabilidade so
frequentemente vistas como um conflito entre diferentes unidades de aten-
dimento. Indivduos mais velhos que precisam de cuidados de sade mental
podem facilmente incidir nas fissuras do atendimento (Moscovitz, 2006),
uma tendncia agravada pelo apertado oramento da sade em Quebec.7 O sis-
tema de sade de Quebec, organizado em torno dos CSSSs, oferece dois ser-
vios para pessoas idosas com problemas de sade mental: os PALVs a sigla
em francs para servios para a perda de autonomia relativa ao envelhecimen-
to e o Programa de Sade Mental. A dificuldade surge quando esta clientela
especfica encaminhada a um dos dois programas: o PALV geralmente no
especializado no tratamento de sade mental, enquanto o Programa de Sade
Mental concebido para adultos e jovens adultos, sendo carente de expertise
geritrica. Para as pessoas que sofrem de alguma demncia, as coisas ficam
ainda mais complicadas: uma vez que a demncia considerada um problema
7 Sobre o oramento da sade em Quebec, ver http://www.radio-canada.ca/nouvelles/budget/qc2007rev/san-
te.shtml. Economistas da sade, muitas vezes chamam a ateno para os custos de medicamentos para idosos,
ligando isto elevada carga sobre os sistemas de sade, em correlao especial com uma maior expectativa de
vida e com o sexo feminino. (CUTLER; ROSEN; VIJAN, 2006; ROGOWSKI; LILLARD; KINGTON, 1997) Para man-
ter a perspectiva, no entanto, deve-se notar que, nos oramentos de sade ocidentais, os maiores encargos
so decorrentes do enorme aumento dos preos dos medicamentos para todas as idades 15% a cada ano nos
EUA (ANGELL, 2000), 11,6% no Canad (MORGAN, 2005) e com novas e mais caras tecnologias mdicas.
308
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 308 25/07/2013 09:08:56
invertendo a adeso, desdobrando o envolvimento
de sade neurolgica e no mental (diferentemente do que ocorre em outros
pases, como o Brasil), o Programa de Sade Mental no se responsabiliza, e o
PALV tampouco suficientemente treinado. neste contexto complexo que
o estudo de adeso do Centro de Pesquisa e Especializao em Gerontologia
Social (CREGS)8 foi conduzido.
O estudo de adeso do CREGS
O estudo exploratrio do CREGS foi realizado em trs etapas utilizando vrias
metodologias complementares. A primeira fase do estudo procurou determi-
nar a generalidade da percepo da equipe de sade mental de que a adeso
fosse uma grande preocupao dos enfermeiros comunitrios que trabalham
com indivduos mais velhos com problemas de sade mental. Um total de 120
questionrios curtos (em francs e ingls) foram enviados a enfermeiros co-
munitrios em Quebec perguntando-lhes, nos termos mais gerais, na forma de
perguntas abertas, sobre seu trabalho com este grupo especfico de pacientes.
O questionrio no fazia qualquer meno adeso. Trinta e nove (um tero
dos) questionrios retornaram.
A segunda fase envolveu entrevistas em profundidade, semiestruturadas,
com 20 enfermeiros, cuja inteno foi provocar a discusso dos principais de-
safios que esses enfermeiros sentiam que enfrentavam em seu trabalho com os
indivduos mais velhos. Dezessete dos entrevistados foram contactados porque
haviam concordado, no questionrio que devolveram, com uma entrevista de
prosseguimento; os outros trs enfermeiros foram encaminhados por entrevis-
tados anteriores. As entrevistas exploraram os dois maiores desafios nomeados
por estes enfermeiros em suas respostas ao questionrio.9 O tempo mdio das
entrevistas foi de 45 minutos, embora algumas entrevistas tenham durado 80
minutos. Os entrevistadores tiveram a impresso geral de que os enfermeiros
estavam entusiasmados em falar sobre esse aspecto de seu trabalho que exigia
8 Grupo de pesquisa de Montreal sobre gerontologia social.Maiores informaes, ver <http://www.creges.ca/
site/>.
9 No caso das trs entrevistas adicionais, a questo relativa aos dois maiores desafios foi colocada antes da parte
exploratria da entrevista.
309
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 309 25/07/2013 09:08:56
annette leibing
muito tempo e energia e para o qual os recursos eram limitados; muitos enfer-
meiros falaram do sentimento de frustrao.
Paralelamente ao recolhimento destes dados, dois enfermeiros de sade
mental foram acompanhados por trs dias, enquanto faziam visitas domici-
liares em Montreal, com o intuito de observar as interaes com sua clientela.
A terceira fase consistiu em cinco entrevistas em profundidade, face-a-
-face, realizadas pela autora deste artigo. Os enfermeiros entrevistados nessa
terceira fase no faziam parte da coorte anteriormente contactada. Eles sa-
biam que se tratava de um estudo sobre a adeso e haviam recebido os resul-
tados do estudo das duas fases anteriores para que comentassem.10
Estudando a condescendncia
Os enfermeiros da provncia de Quebec se preocupam com a adeso? Os 39
questionrios e as 20 entrevistas confirmam que sim, eles se preocupam. Ao
descrever a questo mais desafiadora em seu trabalho com idosos portadores
de transtornos mentais, os enfermeiros mencionaram os seguintes pontos:
1. No adeso (16 enfermeiros).
2. A desconfiana das pessoas mais idosas (9 enfermeiros),
Alm de outras menes personalidade difcil.
3. Comorbidades; interao entre problemas de
sade fsica e mental (7 enfermeiros).
4. Falta de formao psicogeritrica (7 enfermeiros).
Estes dados mostram que a adeso ao tratamento foi espontaneamente
mencionada como um desafio relacionado ao trabalho por quase metade dos
enfermeiros comunitrios. As citaes que seguem, advindas do questionrio,
representam o tom geral das respostas questo do que os enfermeiros consi-
deram o principal desafio ao seu trabalho com indivduos idosos com proble-
mas de sade mental.
10 Todas as entrevistas foram sistematicamente analisadas para extrair os temas principais. Cada tema foi
apresentado com numerosas e extensas citaes para contextualizar, tanto quanto possvel, os dados.
No primeiro nvel, todos os elementos acerca do trabalho com adultos mais velhos com transtornos
mentais foram listados; em um segundo nvel, apenas citaes relacionadas adeso.
310
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 310 25/07/2013 09:08:56
invertendo a adeso, desdobrando o envolvimento
Enfermeiro(a) 1: O principal desafio conseguir superar os sentimentos de im-
potncia e frustrao experimentados quando se lida com esses clientes que no
cooperam com o tratamento planejado. preciso mais esforo para lidar com
esses clientes e [...] para conseguir desenvolver uma relao de confiana com
clientes que mostram problemas de comportamento e so reticentes a respeito
do recebimento de nossos servios.
Enfermeiro(a) 2: A resistncia ao medicamento prescrito: eles podem se esque-
cer de solicitar sua medicao ou tom-la incorretamente. Ns encontramos
comprimidos nas mesas ou no cho. s vezes se esqueem de renovar sua pres-
crio. Eles se recusam a tomar certos medicamentos, porque tm medo deles
ou acreditam que no precisam deles.
Enfermeiro(a) 3: Falta de colaborao com o plano de tratamento: para esses
pacientes, as solues que propomos lhes parecem inteis. Seus hbitos so di-
fceis de modificar e, se algum insiste, eles ficam ansiosos. Problemas de sade
mental amplificam incapacidades cognitivas e vice-versa, o que torna difcil
obter colaborao para estabelecer uma relao de confiana.
Enfermeiro(a) 4: Os profissionais de sade da famlia esto cansados de en-
frentar o repetido fracasso em garantir a cooperao do paciente idoso. A falta
de motivao da pessoa idosa uma fonte de frustrao para o profissional
da sade. Seus filhos tendem a desistir; eles tambm tm outras obrigaes e
responsabilidades a cumprir dentro de suas prprias famlias e crculos sociais.
Enfermeiro(a) 5: Tomar a medicao regularmente: As pessoas so essencial-
mente deixadas a si mesmas, sem um mdico para fazer o acompanhamento
regular. Algumas pessoas vivem sozinhas, sem ningum para ajud-las a cum-
prir [o tratamento]. A medicao no tomada adequadamente por falha de
memria. Estes pacientes de sade mental muitas vezes tomam um monte de
remdios para problemas fsicos (tais como diabetes etc.).
Consistentes com as descobertas feitas por estudos anteriores, os enfer-
meiros mencionam uma srie de fatores comportamentais, biolgicos, sociais
e estruturais relacionados adeso. Uma parte substancial das respostas dos
enfermeiros, no entanto, consiste em uma caracterizao dos indivduos mais
velhos com problemas de sade mental. Esses pacientes, de acordo com as res-
postas dos enfermeiros, so desconfiados, teimosos, (excessivamente) ansio-
sos, sem discernimento, esquecidos. A pessoa idosa com problemas de sade
mental tende a demonstrar medo e desconfiana para com o enfermeiro (ou
311
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 311 25/07/2013 09:08:56
annette leibing
outro profissional de sade) e igualmente receoso do tratamento prescrito,
observa uma enfermeira de uma pequena cidade nos arredores de Montreal.
Receio, desconfiana e falta de cooperao parecem ser no apenas sinais de
problemas de sade mental, mas tambm esto associados psicologia da ve-
lhice. (Martin; Long; Poon, 2002)
Quando os enfermeiros falaram de confiana e de desconfiana, rara-
mente isto ocorreu no contexto do profissional da sade aprendendo a con-
fiar nas intuies do seu paciente ou em suas avaliaes a respeito do trata-
mento. As questes de confiana circundaram o esforo de levar o paciente a
seguir o seu tratamento conforme prescrito, como no exemplo a seguir, tira-
do do questionrio:
Enfermeiro(a) 6: Grande resistncia em tomar a medicao ou seu uso incor-
reto, com ntido desrespeito dosagem ou finalidade teraputica do plano de
medicao. Eles tm medo de desenvolver um hbito ou tm medo da reao
droga. Eles procedem tomando a medicao por meio de acessos de tentativa
e erro, alegando que conhecem seu corpo melhor que qualquer outra pessoa.
Para tentar normalizar seus temores, eu os abordo gradualmente para ensinar-
-lhes sobre a medicao. Eu tenho que repetir minhas lies em vrias ocasies
e eu verifico se eles guardaram qualquer informao.
Neste sentido, a confiana e a adeso se referem submisso [compliance]
em seu sentido original: o paciente deveria aprender a aceitar o conhecimento
e as ordens dos profissionais de sade. No exemplo seguinte, retirado de uma
entrevista, fica evidente que a confiana mais um modus operandi que o esta-
belecimento de uma relao que permita a tomada conjunta de decises:
Enfermeiro(a) 7: O que falta um bom treinamento [...] Que ningum tenha
que se virar lendo sobre comprimidos... E como intervir no fcil, a gente no
sabe como lidar com eles preciso lidar com eles com mo de ferro e, ao mes-
mo tempo, com luvas de seda. Por um lado preciso deixar que faam suas coi-
sas, para ganhar confiana, por outro lado, voc tem que enfrent-los, coloc-
-los de volta na realidade... Eu tento. No que eu mais invisto em no perder
a confiana deles, para que eu possa voltar l... Existem estratgias: Se voc
sente que tem que dizer o mesmo que eles, para que possa voltar sua casa,
ento voc diz a mesma coisa. Quando possvel enfrent-los sem que eles me
batam, a gente continua a enfrentar um pouco. Se voc v que isso no funcio-
na de jeito nenhum, nenhum, nenhum, bem... Se a pessoa no tem tempo para
312
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 312 25/07/2013 09:08:56
invertendo a adeso, desdobrando o envolvimento
a interveno, ento ela faz uma interveno de enfermagem focalizada. Voc
no tem tempo, meia hora, 45 minutos, para estabelecer uma relao terapu-
tica, no h tempo para isso. Temos que entrar na casa, e para isso precisamos
da confiana deles.
Estas citaes mostram a dupla lateralidade da confiana quando esta se
torna uma questo central no estudo da adeso. Por um lado, as declaraes
destes enfermeiros desafiam as alegaes dos discursos sobre a adeso (e
a concordncia) no que se refere tomada de deciso compartilhada e de-
mocratizao do relacionamento entre paciente e profissional; por outro lado,
desconstruir a confiana como um jogo de poder resultaria em culpar os enfer-
meiros (e outros profissionais de sade) por oferecerem seus conhecimentos e
tentarem realizar o que eles consideram as melhores prticas. Este tipo de ar-
gumento poderia tambm ignorar as vulnerabilidades e as experincias de al-
guns indivduos com problemas de sade mental com capacidade reduzida de
cuidado prprio. Sem negar que os enfermeiros podem prestar atendimento
ruim e sem negar as criticas feitas s melhores prticas (p. ex., Timmermans,
2005), parece ser mais importante considerar as condies nas quais enfermei-
ros esto prestando cuidados e seus efeitos do que desconstruir (ou desmentir;
debunking) (Latour, 2004) confiana e cuidado.
Confiana e cuidado
Quando os pacientes confiam nos profissionais de sade, eles tambm aceitam
que estes ganhem poder sobre seu corpo e seu bem-estar. Este tipo de relao
de confiana, necessria a qualquer interveno de sade, dificilmente pode
ser comparada s comuns reivindicaes antipaternalistas de igualdade entre
o paciente e o profissional de sade. Confiar significa assumir riscos, enfrentar
incertezas (Leibing, 2009a), mas, em ltima anlise, os pacientes permane-
cem em uma relao de dependncia, mesmo que os indivduos e grupos de
pacientes, em numerosos contextos, disponham de muito mais poder quan-
do comparado a 30 anos atrs. (Grimen, 2009) O(a) enfermeiro(a) 7, acima,
descreve como a construo da confiana literalmente a chave, aqui, para a
casa dos pacientes que vivem na comunidade (Se voc sente que tem que dizer o
313
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 313 25/07/2013 09:08:56
annette leibing
mesmo que eles, para que possa voltar sua casa, ento voc diz a mesma coisa).
Muitas vezes, confiar no uma escolha: os pacientes podem ser forados
confiana, devido falta de alternativas. O mau funcionamento do sistema de
sade de Quebec parte integrante dos noticirios que reportam pacientes que
morrem enquanto esperam tratamento, a falta de pessoal e uma organizao
geral catica dos recursos relativos sade.11 Este panorama da sade, em que
os pacientes muitas vezes tm de tomar o que recebem, interage com a confian-
a dos pacientes, mas tambm relevante para a questo central de qualquer
sistema de sade: cuidado [caring].
Especialmente no final das entrevistas da segunda fase do estudo do CRE-
GS, quando a adeso era explicitamente a questo, os enfermeiros falaram do
cuidado como meio de aumentar a adeso. Este padro tambm esteve presente
no final das entrevistas da primeira fase, quando os enfermeiros foram questio-
nados sobre como respondiam aos desafios que tinham descrito anteriormente.
As respostas refletiram um quadro muito mais simptico do idoso paciente de
sade mental problemtico.
Enfermeiro(a) 8: Eu vejo que as pessoas no esto obedecendo. Mas no cul-
pa delas. E, com o tempo, aprendi a cuidar delas como deveria (comme il faut).
Demora mais, mas depois de um tempo [...] Eu aprendo muito com esses pa-
cientes. Todos eles tm suas histrias para contar.
Enfermeiro(a) 9: Eles no cumprem [o tratamento] porque so solitrios. Ns
podemos vir de tempos em tempos, eles em geral no tm famlia. Eles so con-
fusos, ou pensam que os medicamentos so ruins para eles, ou que no esto
doentes. Se voc realmente se importa, eles se abrem, at bonito.
11 A fora-tarefa Quebec 2008 [Qubec 2008 Task Force], relativa ao financiamento do Sistema de Sade,
descreve o sistema da provncia: O sistema de sade de Quebec oferece uma ampla gama de servios, com
um alto nvel de qualidade independentemente da capacidade do destinatrio de pagar. A grande maioria
dos cidados se declara satisfeita ou muito satisfeita com os servios prestados, uma vez que receberam estes
servios. E h o problema: quebequenses no tm pronto acesso aos servios do seu sistema de sade. Em
termos de acesso ao atendimento, os quebequenses so menos bem servidos do que os cidados de outras
provncias. Apesar das melhorias recentes, esta situao persiste. Em termos de produtividade, o sistema de
sade de Quebec mal se compara com o que observado em muitas outras jurisdies. Alm disso, o sistema
de sade de Quebec enfrenta graves problemas de recursos humanos. O sistema de sade de Quebec, com
seus pontos fortes e suas fraquezas, confronta-se com um problema fundamental, nomeadamente, toda a
questo de seu financiamento. Desde 1998-1999, a economia cresceu a uma mdia de 4,8% ao ano, enquanto
durante o mesmo perodo os gastos pblicos com sade e servios sociais aumentaram em mdia 6,4% ao
ano.
314
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 314 25/07/2013 09:08:56
invertendo a adeso, desdobrando o envolvimento
O cuidado a atitude e a teoria central em enfermagem. (Fahrenwald
et al., 2005) Este geralmente entendido como antpoda do reducionismo bio-
mdico e dos tratamentos impessoais fornecidos por mdicos.12 Os valores
essenciais da enfermagem [...] incluem a dignidade humana, a integridade,
a autonomia, o altrusmo e a justia social, escreve Fahrenwald et al. (2005)
em seu artigo sobre o cuidado. A bondade absoluta do cuidado raramente
questionada, embora alguns autores tenham criticado ferozmente no a ati-
tude solidria, mas seu tom esotrico e idealista que, de acordo com John Paley
(2002), o sinal de uma moral de escravos. O argumento de Paley parte das
reflexes de Nietzsche em sua Genealogia da Moral, na qual Nietzsche mostra
como os grupos mais fracos (os escravos) se revoltam contra os poderosos
(os nobres) por meio da inverso de virtudes. No caso da enfermagem, isso
significaria que o modelo biomdico (se houver algum tipo de modelo unifi-
cado) descrito como objetivo mal visto e criticado como positivista, re-
ducionista, mecanicista, tornando-se o contraponto perfeito fenomenologia
e ao holismo virtuososos da enfermagem um ato de autoengano, escreve
Paley (2001, 2002).
Alguns autores criticam a literatura de enfermagem a respeito do cuidado
referindo-se a ela enquanto cobertura de acar sobre as ambiguidades (SE-
EDHOUSE, 1993 apud Mulholland, 1995), realidade entre parnteses (Mu-
lholland, 1995), ou simplesmente inanio filosfica. (Paley, 2002) Estes
autores criticam, com razo, as limitaes da literatura sobre o cuidado indivi-
dual, a sua falta de viso poltico-econmica e suas, por vezes, surpreendentes
referncias csmicas aos principais tericos do cuidado.
Esta perspectiva favorece a unio entre o esprito humano e a fonte infinita
de amor csmico. Uma vez que algum se ampara nestas consideraes a
respeito da vida e da relao entre o Homem e o cosmos, mais prxima do
pertencimento que do ser, ento temos uma nova cosmologia para considerar
o lugar do Homem no Universo, no separado do campo universal de amor
infinito. (WATSON, 2005, p. 304, grifo do autor)
12 Para uma postura crtica, confira Keating e Cambrosio (2004).
315
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 315 25/07/2013 09:08:56
annette leibing
Embora os textos escritos pelos crticos do cuidado tenham provocado rea-
es iradas de muitos enfermeiros, quem sabe conduzindo a repensar algumas
certezas, os argumentos trazidos por esses autores tambm ofuscam o fato de
que a maioria dos sistemas de sade na verdade precisam de mais cuidado e
ateno, no menos. Bruno Latour (2004, 2008) se ope ao desmerecimento
[debunking], uma atitude que ele v especialmente no desconstrucionismo, em
algumas partes da teoria crtica. Latour (2004) condena corretamente como
terrvel e como barbaridade crtica o desmerecimento destrutivo de questes
com as quais as pessoas realmente se preocupam. Ele prope, ao invs disso,
lutar por um realismo renovado que se aproxime da questo do envolvimento,
isto , uma anlise de como as coisas que so de interesse de certos grupos se
mantm no tempo e no espao. Um conceito como o de adeso geralmente tra-
tado como dado, como um ponto final bvio e indiscutvel das negociaes
e institucionalizaes, como Latour (1999, p. 307) o define. Ao invs de definir
a adeso como uma variao das recomendaes em geral baseadas em evidn-
cias, esta poderia muito bem ser concebida como uma questo de envolvimen-
to: as pessoas vm se preocupando com a adeso h mais de 40 anos e sua nti-
ma associao com o cuidado revela as qualidades emocionais do esforo a seu
favor. Esta preocupao pode ser descrita de diferentes maneiras, dependendo
do indivduo ou instituio reunidos em torno das prticas de adeso (pacien-
tes, profissionais de sade, administradores, indstria farmacutica, etc).
No caso dos enfermeiros comunitrios entrevistados, as citaes acima
mostram que parece haver um componente normativo nas respostas dos enfer-
meiros a respeito do cuidado com pacientes no aderentes. Este pensamento
normativo (comme il faut) est ligado melhoria do estado do paciente produ-
zida pelo enfermeiro atravs de uma fora predominantemente emocional (se
voc realmente se importa). Novamente, um duplo argumento pode ser dado.
Os cticos iro questionar as capacidades emocionais enquanto normas
que parecem desarticuladas da realidade do atendimento, por exemplo, em
ambientes desfuncionais como o sistema de sade de Quebec. Estes cticos
podem vir a observar que parece haver um excedente de devaneios envolvido,
especialmente quando se considera as citaes acima, que mostram os limites
do atendimento a pacientes no aderentes. Um estudo recente, realizado pelo
socilogo Angelo Soares (2010), mostra que os profissionais de sade que pro-
316
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 316 25/07/2013 09:08:56
invertendo a adeso, desdobrando o envolvimento
veem esforos emocionais se encontram exauridos: em um CSSS em Montreal,
40% dos profissionais de sade mostram um elevado grau de sofrimento ps-
quico. O esforo emocional feito por enfermeiros parte da comercializao
de sentimento humano, como Hochschild (1983) argumentou em seu estudo
clssico, The managed heart [O corao gerenciado]. Esta comercializao no
afeta apenas as capacidades do enfermeiro, mas tambm os trabalhadores (na
maioria mulheres) que cobrem parte do que falta capacidade de cuidado aos
idosos em Quebec: em muitos casos, mulheres provenientes de pases mais
pobres, que oferecem mo de obra barata, algumas vezes em estado semilegal
no Canad, cuidam de idosos que no podem ou no querem contar com cui-
dados familiares e no recebem suficiente cuidado de seus sistemas de sade.
A crescente dependncia destes trabalhadores imigrantes mostra o paradoxo
do sistema de sade de Quebec, que se baseia em uma premissa de igualdade.
Os crticos dos crticos, no entanto, podem vir a argumentar que cuidar
profundamente de um paciente exatamente o elo perdido em estudos de ade-
so. Uma srie de estudos mostra que a adeso est ligada ao acompanhamen-
to regular dos pacientes. (Knight et al., 2009) No entanto, esta continuidade
de cuidados quase impossvel de se prover com a organizao atual dos re-
cursos de sade de Quebec. O cuidado no apenas uma ideologia ou um de-
vaneio, um opcional extra para a competncia (Paley, 2001; Tierney, 2003);
ele se materializa em prticas, redes e leis concretas, em plulas que agem so-
bre corpos em aflio. Estudos mostram que as principais atitudes de cuida-
do aquelas que so muitas vezes depreciadas pelos crticos podem ter um
impacto concreto sobre o paciente: um estudo realizado pelo pesquisador de
Harvard, Ted Kaptchuk et al. (2008), com placebos combinados a uma relao
paciente-profissional acrescida de afeto, ateno e confiana para o tratamen-
to da sndrome do intestino irritvel, mostra que:
[...] o percentual de pacientes que relataram alvio suficiente (62% e 61% em
trs e seis semanas, respectivamente) comparvel taxa de resposta em
verificaes clnicas de drogas atualmente utilizadas no tratamento da sn-
drome do intestino irritvel [...] Estes resultados indicam que fatores como
o afeto, a empatia, a durao da interao, e a comunicao de expectativas po-
sitivas pode de fato afetar significativamente os resultados clnicos. (Kap-
tchuk et al., 2008, p. 999, grifo nosso)
317
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 317 25/07/2013 09:08:56
annette leibing
Concluso
O presente artigo destaca uma descoberta do estudo do CREGS a respeito
da adeso: a associao da adeso a comprometimentos afetivos muitas vezes
idealizados. A adeso torna-se problemtica, de fato, quando ligada aos tipos
ideais13 de enfermeiros dedicados e pacientes confiantes. Este ideal rara-
mente alcanado, pois com estes tipos ideais a complexidade do atendimen-
to reduzida s capacidades emocionais do indivduo cuidado e confiana.
Estudar as relaes teraputicas idealizadas para explicar a no adeso con-
vida a falcias conceituais, quando como Max Weber argumentou em suas
(contestadas) reflexes sobre a objetividade da cincia a adeso se transfor-
ma em uma utopia: a pureza conceitual. (Weber, 1997, p. 211) Embora esse
tipo de crtica seja importante, reconceituar a adeso como uma questo de
envolvimento em termos latourianos mostra que h muitos lados para se pen-
sar a adeso. Ao invs de culpar pacientes (incrdulos) ou profissionais de sa-
de (paternalistas), a questo central se torna por que e como as pessoas esto
interessadas na adeso.
Faria sentido inventar a adeso de profissionais de sade ou a adeso do
Estado (no sentido de fornecer o que necessrio para um bom tratamento)?
Ou todo o conceito de adeso, at mesmo de concordncia, est baseado em
uma linguagem de culpa e deveria, portanto, ser abandonado para sempre? In-
verter o conceito autoritrio de condescendncia/submisso/obedincia [com-
pliance] no parece ajudar. Reforar o envolvimento, contudo, poderia ideal-
mente permitir uma articulao da interao entre doena mental, os sistemas
de sade, paradigmas correntes na medicina, as molculas encarnadas dos
medicamentos (Leibing, 2009a) em um corpo envelhecido e o papel desem-
penhado pelos profissionais de sade neste cenrio especfico da sade. As-
sim, cuidado e confiana perderiam suas posies limitadas e moralizantes
em uma relao problemtica.
13 Tipo ideal um termo utilizado aqui para descrever as relaes ideais tanto no sentido comum do termo
quanto no sentido dado por Max Weber (2007, p. 211), referindo-se ideia mais que ao ideal: Um tipo
ideal formado pelo realce unilateral de um ou mais pontos de vista e pela sntese de um fenmeno
individual concreto em grande medida difuso, discreto, mais ou menos vigente e ocasionalmente inexistente,
organizado em um construto analtico unificado de acordo com aqueles pontos de vista unilateralmente
enfatizados.
318
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 318 25/07/2013 09:08:56
invertendo a adeso, desdobrando o envolvimento
Aproximar-se do cuidado significaria que agora podemos olhar para o efeito
do cuidado sobre a adeso ao invs de apenas nomear suas virtudes (empatia,
amor, e assim por diante), ou reduzi-lo a uma capacidade ou fora emocional.
Aproximar-se significaria tambm olhar para o cuidado (uma noo que inclui
competncias tcnicas) justamante onde o cuidado (uma categoria predomi-
nantemente moral na teoria de enfermagem) se justape s reivindicaes fei-
tas em seu nome. Embora a maioria dos enfermeiros parea se importar, eles
trabalham em um ambiente que, em muitos casos, no oferece as condies
adequadas. Se o cuidado continuar a ser definido apenas como uma relao
emocional, excluindo-se o contexto mais amplo dos atendimentos de sade,
este ser ainda menos til pelas razes que o filsofo americano Eric Hoffer
(1973, p. 18) delineou: Melhorias sociais so mais facilmente atingidas pela pre-
ocupao com a qualidade dos resultados do que com a pureza dos motivos.
O estudo do CREGS sobre a adeso, em primeiro lugar, resultou em re-
comendaes metodolgicas: para entender melhor a adeso, a confiana e o
cuidado no contexto do sistema de sade de Quebec, os pesquisadores devem
evitar tanto o desmerecimento quanto a idealizao. Reflexes sobre as ob-
servaes ou preocupaes dos enfermeiros em relao s pessoas mais
velhas com problemas de sade mental permitiram autora discutir o que
estava em jogo para estes enfermeiros e delinear questes de envolvimento.
Infelizmente no h um final para este estudo; certamente no um final feliz.
A equipe de sade mental que solicitou esta pesquisa ficou decepcionada com
a falta de recomendaes concretas para uma melhor adeso ao tratamento.
Agradecimentos
Este artigo dedicado aos estudantes de graduao que em 2009 e 2010 fi-
zeram o curso Dimenses sociais do cuidado (SOI 6147) da Universidade de
Montreal. Suas ricas e fundamentadas contribuies tornaram a autora mais
consciente das muitas facetas do cuidado. Eu agradeo encarecidamente aos
enfermeiros entrevistados que, apesar de suas agendas ocupadas, discutiram
seu trabalho conosco. Este estudo foi possvel atravs do financiamento forne-
cido pelo grupo de pesquisa do CREGS Fonds Qubcois de Recherche sur
la Socit et la Culture (FQRSC). Josette Wecsu ajudou a conduzir a primeira
319
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 319 25/07/2013 09:08:56
annette leibing
etapa deste estudo, e Lucie Bouchard fez a maior parte das entrevistas na se-
gunda etapa. As enfermeiras Catherine Lloyd e Doreen Whitehead discutiram
a conceituao e os resultados deste estudo, assim como Nona Moscovitz, a
administradora da equipe de sade mental do Cavendish CSSS em Montreal.
Sou grata a Nancy Guberman e Jean-Pierre Lavoie, que apoiaram este estu-
do com sua experincia e amizade. Agradeo a Cuffe Jennifer por corrigir meu
ingls alemo, ao leitor amigo annimo que no teve sugestes a dar e, por
ltimo, mas no menos importante, Kalman Applbaum, por sua leitura cui-
dadosa e seus comentrios. Esta pesquisa foi aprovada pelo comit de tica da
Cavendish CSSS em 2006.
Conflito de interesses: nenhum
Referncias
ADELMAN, R.C. The Alzheimerization of aging. The Gerontologist, v. 35, n. 4, p. 526532,
1995.
ADHERENCE. in: The American Heritage Medical Dictionary. Boston: Houghton
Mifflin Company. 2007. Disponvel em: <http://medical-dictionary.thefreedictionary.
com/adherence> Acesso em: abr. 2010.
ANGELL, M. The pharmaceutical industry To whom is it accountable? New England
Journal of Medicine, v. 342, n. 35, p. 19021904, 2000.
APPLBAUM, K. Consumers are patients!: Shared decision making and treatment
noncompliance as business opportunity. Transcultural Psychiatry, v. 46, n. 1, p. 107130,
2009.
BEIJER, H. J.; BLAEY, C. J. de. Hospitalisations caused by adverse drug reactions (ADR):
a meta-analysis of observational studies. Pharmacy World & Science, v. 24, n. 2, p.
4654, 2002.
BIG Pharmas nurse will see you now. In: Bloomberg Businessweek Magazine. jun.
2006. Disponvel em: <http://www.businessweek.com/stories/2006-06-11/big-
pharmas-nurse-will-see-you-now>.
BRODATY, H.; DRAPER, B.; LOW, L. F. Nursing home staff attitudes towards residents
with dementia: strain and satisfaction with work. Journal of Advanced Nursing, v. 44,
n. 6, p. 583590, 2003.
CARNEVALE, F. Implication de parents dans les dcisions de fin de vie en ranimation
pdiatrique: qui doit dcider? 2010. Conference given at the MOS research group
monthly meetings, University of Montreal, 23 February, 2010. Abstract available in:
<http://meos.qc.ca/drupal/?q=en/node/75>.
320
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 320 25/07/2013 09:08:57
invertendo a adeso, desdobrando o envolvimento
CAWLEY, R. The incomplete revolution: the development of community work in
Quebec CLSCs. Community Development Journal, v. 31,n. 1, p. 5465, 1996.
COLLIN, J. Mdicaments psychotropes et personnes ges: une socialisation de la
consommation. Revue qubcoise de psychologie, v. 22, n. 2, p. 7498, 2001.
COLLIN, J. Mdicament et vieillesse: trois cas de figure. Anthropologie et socits, v. 27,
n. 2, p. 11938, 2003.
CONRAD, P. The meanings of medication: another look at compliance. Social Science
and Medicine, v. 20, n. 1, p. 2937, 1985.
CUTLER, D. M.; ROSEN, A. B.; VIJAN, S. The value of medical spending in the United
States, 1960-2000. New England Journal of Medicine, v. 355, n. 9, p. 920927, 2006.
DAMESTOY, N. ; COLLIN, J.; LALANDE, R. Prescribing psychotropic medication for
elderly patients: some physicians perspectives. Canadian Medical Association Journal,
v. 161, n. 2, p. 143145, 1999.
FAHRENWALD, N. L. et al. Teaching core nursing values. Journal of Professional
Nursing, v. 21, n. 1, p. 4651, 2005.
FEELY, J.; COAKLEY, D. Altered pharmacodynamics in the elderly. Clinics in Geriatric
Medicine, v. 6, p. 269283, 1990.
GREENE, J. A. 2002 Roy Porter Memorial prize essay therapeutic infidelities:
noncompliance enters the medical literature, 19551975. Social History of Medicine,
v. 17, n. 3, p. 327343, 2004.
GRIMEN, H. Power, trust, and risk: some reflections on an absent issue. Medical
Anthropology Quarterly, v. 23, n. 1, p. 1633, 2009.
HAYNES, R. B.; MCKIBBON, K. A.; KANANI, R. Systematic review of randomised trials
of interventions to assist patients to follow prescriptions for medications. The Lancet,
v. 348, n. 9020, p. 383386, aug. 1996.
HAYNES, R. B. et al. Interventions for enhancing medication adherence. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. n. : CD000011. DOI: 10.1002/14651858.
CD000011.pub3.
HEALTH Reports: Seniors health care use. In: Statistics Canada The Daily. Feb. 2006.
Disponvel em: <http://www.statcan. gc.ca/daily-quotidien/060207/dq060207a-eng.
htm. Acesso em: abr. 2010.
HOCHSCHILD, A. R. The managed heart: commercialization of the human feeling.
Berkeley: University of California Press, 1983.
HOFFER, E. Reflections on the human condition. New York: Harper and Row, 1973.
HUGHES, C. M. Medication non-adherence in the elderly: How big is the problem?
Drugs & Aging, v. 21, n. 12, p. 793811, 2004.
JUTEL, A.; Menkes, D. B. Soft targets: Nurses and the pharmaceutical industry. PLoS
Medicine, v. 5, n. 2, feb. 2008.
321
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 321 25/07/2013 09:08:57
annette leibing
JUTEL, A.; Menkes, D. B. Soft targets: nurses and the pharmaceutical industry.
Reprinted in APORIA: The Nursing Journal, v. 1, n. 2, p. 2330, 2009.
KAPTCHUK, T. J. et al. Components of placebo effect: randomised controlled trial in
patients with irritable bowel syndrome. British Medical Journal, v. 336, p. 9991003.
may 2008. doi:10.1136/bmj.39524.439618.25.
KARNIELI-MILLER, O.; Eisikovits, Z. Physician as partner or salesman? shared decision-
making in real-time encounters. Social Science and Medicine, v. 69, p. 18, 2009.
KEATING, P. ; CAMBROSIO, A. Does biomedicine entail the successful reduction of
pathology to biology? Perspectives in Biology and Medicine, v. 47, n. 3, p. 357371, 2004.
KNIGHT, J. C. et al. Does higher continuity of family physician care reduce
hospitalizations in elderly people with diabetes? Population health management, v. 12,
n. 2, p. 8186, apr. 2009. doi:10.1089/pop. 2008.0020.
LATOUR, B. Pandoras hope: essays on the reality of science studies. Cambridge:
Harvard University Press, 1999.
LATOUR, B. Why has critique run out of steam? From matters of fact to matters of
concern. Critical Inquiry, v. 30, n. 2, p. 246248, 2004.
LATOUR, B. What is the style of matters of concern? Spinoza Lectures, Assen, Holland:
Van Gorcum, 2008.
LEIBING, A. Lessening the evils, online: Embodied molecules and the politics of hope
in Parkinsons disease. Science Studies, v. 22, n. 2, p. 4463, 2009a.
LEIBING, A. Tense prescriptions? Alzheimer medications and the anthropology of
uncertainty. Transcultural Psychiatry, v. 46, n. 1, p. 180206, 2009b.
LIMA, C. M. et al. Effect of age and gender on citalopram and desmethylcitalopram
steady-state plasma concentrations in adults and elderly depressed patients. Progress
in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, v. 29, n. 6, p. 9526, jul. 2005.
MARINKER, M.; SHAW, J. Not to be taken as directed. Putting concordance for taking
medicines into practice. British Medical Journal, v. 326, p. 3489, 2003.
MARTIN, P. ; LONG, M. V. ; POON, L. W. Age changes and differences in personality
traits and states of the old and very old. Journal of Gerontology, v. 57B, n. 2, p. 144152,
2002.
MAXMIN, K. et al;. Mental capacity to consent to treatment and admission decisions
in older adult psychiatric inpatients. International Journal of Geriatric Psychiatry, v.
24, n. 12. apr. 2009. Disponvel em: <http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/
fulltext/122326207/PDFSTART>. Accessed: oct. 2009.
MOL, A. The logic of care, health and the problem of patient choice. New York: Routledge,
2008.
MORGAN, S.G. Booming prescription drug expenditure: a population-based analysis
of age dynamics. Medical Care, v. 43, n. 10, p. 9961008, 2005.
322
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 322 25/07/2013 09:08:57
invertendo a adeso, desdobrando o envolvimento
MOSCOVITZ, N. Program Manager of Mental Health Services: personal communication.
CSSS Cavendish, Montreal, Canada, 2006.
MULHOLLAND, J. Nursing, humanism and transcultural theory: the bracketing-out of
reality. Journal of Advanced Nursing, v. 22, p. 4429, 1995.
NIETZSCHE, Friedrich. The Genealogy of Morals. Translation Horace Barnett Samuel.
New York: Courier Dover Publications, 2003.
OLDANI, M. Thick description: Toward an interpretation of pharmaceutical sales
practices. Medical Anthropology Quarterly, v. 18, n. 3, p. 32556, 2004.
PALEY, J. An archaeology of caring knowledge. Journal of Advanced Nursing, v. 36,
p. 18898, 2001.
PALEY, J. Caring as slave morality: Nietzschean themes in nursing ethics. Journal of
Advanced Nursing, v. 40, n. 1, p. 2535, 2002.
PREVILLE, M. et al. Correlates of psychotropic drug use in the elderly compared to
adults aged 18-64: Results from the Quebec Health Survey. Aging & Mental Health, v. 5,
n. 3, p. 21624, 2001.
QATO, D. M. et al. Use of prescription and over-the-counter medications and dietary
supplements among older adults in the United States. Journal of the American Medical
Association, v. 300, n. 24, p. 286778, 2008.
RADIO-Canada.ca. Budget du qubec: crise et dnouement 2007-2008 sant.
Disponvel em: <http://www.radio-canada.ca/nouvelles/budget/qc2007rev/sante.
shtml>. Acesso em: out. 2009.
REPORT of the task force on the funding of the health care system. Getting our
moneys worth, feb. 2008. Disponvel em: <http://www.groupes.finances.gouv. qc.ca/
financementsante/en/rapport/pdf/RapportENG_FinancementSante.pdf> .Acesso em:
fev. 2013.
RSULTATS dune enqute au CSSS dAhuntsic et Montral-Nord La sant du
personnel durement affecte par la mauvaise gestion. mars 2010. Disponvel em:
<http://www.newswire.ca/fr/releases/archive/March2010/23/c4041.html?view=print>.
Acesso em mar. 2010.
RIFKIN, S. B. Patient empowerment: increased compliance or total transformation?
In: Porzsolt, F.; Kaplan, R. M. Optimizing health: improving the value of healthcare
delivery, New York: Springer, p. 6673. 2007.
ROGOWSKI, J.; LILLARD, L. A.; KINGTON, R. The financial burden of prescription drug
use among elderly persons. Gerontologist, v. 37, n. 4, p. 47582, 1997.
SOARES, Angelo. La qualit de vie chez les membres de lapts, la csn et la fiq au csss
ahuntsic/montral-nord: la sant malade de la gestion, Montral (Qubec): UQAM, 2010.
Disponvel em: <http://www.fiqsante.qc.ca/publicfiles/documents/2010-03-23_la-
sante-malade-de-gestion_etude-soares_apts-csn-fiq_csssamn. pdf>.
323
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 323 25/07/2013 09:08:57
annette leibing
STEVENSON, F. Concept. Concordance. Social Theory and Health, v. 2, n. 2, p. 18493,
2004.
STEVENSON, F.; SCAMBLER, G. The relationship between medicine and the public
the challenge of concordance. Health, v. 9, n. 1, p. 522, 2005.
TAMBLYN, R. Medication use in seniors: Challenges and solutions. Therapie, v. 51, n. 3,
p. 26982, 1996.
TIERNEY, A. J. Comments on: A comparative analysis of lay-caring and professional
(nursing) caring relationships. International Journal of Nursing Studies, v. 40, p. 51113,
2003.
TIMMERMANS, S. From autonomy to accountability. The role of clinical practice
guidelines in professional power. Perspectives in Biology and Medicine, v. 48, n. 4, p.
490501, 2005.
TOURNAY, V. Vie et Mort des agencements sociaux: de lorigine des institutions. Paris:
Presses Universitaires de France, 2009.
TROSTLE, J. Medical compliance as an ideology. Social Science & Medicine, v. 27, p.
1299308, 1988.
TROSTLE, J. The ideology of adherence: an anthropological and historical perspective.
In: DROTAR, Dennis. Promoting Adherence to Medical Treatment in Childhood Chronic
Illness: concepts, methods, and interventions. Mahwah, New Jersey: Lawrence
Erlbaum Associates, 2000, p. 3755.
VOYER, P. et al. Factors associated with psychotropic drug use among community-
dwelling older persons: a review of empirical studies. BMC Nursing, v. 3, n. 3, 2004.
WATSON, J. Caring science: Belonging before being as ethical cosmology. Nursing
Science Quarterly, v. 18, n. 4, p. 3045, 2005.
WEBER, M. Objectivity in social science. In: Calhoun, C. et al. (Ed.) Classical
sociological theory Malden, MA: Blackwell, 1997.
324
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 324 25/07/2013 09:08:57
Morte e produo de sentidos
Rachel Aisengart Menezes
Pensa, por exemplo, mais na morte e seria estranho em verdade
que no tivesse de conhecer por esse fato novas representaes,
novos mbitos de linguagem.
(Wittgenstein)
Nas ltimas dcadas do sculo XX e, em especial, no incio do sculo XXI, ob-
serva-se uma crescente produo de significados em torno da ltima etapa de
vida de pessoas com doenas crnico-degenerativas no Ocidente.1 Tal elabora-
o , majoritariamente, de autoria de profissionais de sade dedicados assis-
tncia desse tipo de enfermo e seus familiares. Como tantas outras esferas da
vida em sociedade, o processo do morrer e a morte passaram cada vez mais a
consistir um domnio de saberes e cuidados do aparato mdico.
Aliada secularizao da sociedade ocidental, a progressiva medicalizao
social se tornou responsvel pela prescrio dos comportamentos adequados
e, consequentemente, das manifestaes emocionais apropriadas, em todas as
etapas da vida. Tais modelos de conduta, de sentimentos mais ou menos acei-
tveis em situaes esperadas e naquelas imprevistas (e/ou indesejadas, como
acidentes, perdas, morte), propiciam uma extensa gama de ofertas de ajuda por
parte de profissionais da medicina e da psicologia. Nesse cenrio se destaca a
ateno concedida ao processo de luto, tanto vivenciado pela famlia quanto
pelo doente terminal.
1 Refiro-me aqui ao ocidente (SAID, 1990) ou cultura ocidental moderna, nos termos de Duarte (1999, p. 22),
como um sistema de significao especfico que implica uma certa maneira de perceber e compreender os
fenmenos de nossa vida e, sobretudo, de imaginar que podemos perceber e compreender os fenmenos de
outras culturas.
325
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 325 25/07/2013 09:08:57
rachel aisengart menezes
No que concerne ao trmino da vida, h uma crescente produo de dife-
rentes formas de assistncia em sade, com o intuito de conduzir pacificao
dos temores da morte por meio de um controle sobre as circunstncias que
integram o processo do morrer. s distintas maneiras de gesto contempor-
nea da morte so associados sentidos os mais variados, que podem (ou no)
propiciar uma realizao da meta almejada pelos atores sociais. A eficcia sim-
blica de discursos e de prticas articuladas a eles depende intrinsecamente da
adeso dos sujeitos a cada sistema de significados, questo que se apresenta
de extrema complexidade atualmente, dado o amplo e diversificado conjunto
de ofertas.
Com a criao e o desenvolvimento de recursos tecnolgicos aplicados
sade, consegue-se atualmente postergar o trmino da vida por certo tempo,
o que propicia um perodo no qual o enfermo efetua uma despedida de sua
vida. (Hennezel, 2005) Diversos autores das cincias sociais (Walter, 1997;
Clark; Seymour, 1999; Castra, 2003; Menezes, 2004, 2009, 2011; Mene-
zes; Gomes, 2011) tm se dedicado ao tema, com reflexes sobre a criao de
significados para vida e morte, intimamente associados s formas inovadoras
de ritualizao do final da vida.
Este artigo se insere neste conjunto de publicaes e aborda especifica-
mente uma formulao em torno dos ltimos momentos de vida. Com base em
observao etnogrfica em um congresso de Cuidados Paliativos (CP)2 e na re-
cente produo analtica das cincias sociais em estudos sobre a temtica so
examinadas as proposies de Marie de Hennezel e Christophe Faur, profissio-
nais de sade mental franceses,3 especialistas no atendimento a doentes fora
2 18th International Congress on Palliative Care, Montreal, outubro de 2010. Os Cuidados Paliativos constituem
uma recente modalidade de atendimento a pacientes diagnosticados como fora de possibilidades terapu-
ticas de cura (FPTC), o que significa um avano inexorvel da enfermidade na direo da morte, quando no
h mais recursos para a cura ou controle da doena como cncer, AIDS, demncias, entre outras. Os profis-
sionais paliativistas objetivam uma assistncia totalidade bio-psico-social-espiritual do doente e seus fami-
liares. O conceito de dor total, cunhado por Cicely Saunders, mdica e enfermeira inglesa fundadora dos CP,
fundamenta esta perspectiva de acompanhamento, empreendida por uma equipe multiprofissional. A meta
do trabalho dos paliativistas a construo de uma boa morte, sem dor nem sofrimento, pacfica e aceita pe-
los atores sociais envolvidos no processo do morrer. Daqui em diante passo a me referir a Cuidados Paliativos
pela sigla CP.
3 Marie de Hennezel psicloga e psicanalista, pioneira na assistncia psicolgica a pacientes de servios de
CP, autora de muitos livros sobre o tema que vm sendo traduzidos em diversas lnguas. Confira em: <http://
www.toslog.com/mariedehennezel/accueil>. Christophe Faur mdico psiquiatra, especializado no acom-
326
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 326 25/07/2013 09:08:57
morte e produo de sentidos
de possibilidades teraputicas de cura, e seus familiares, militantes da causa da
boa morte na Frana.
Por uma morte consciente
Como tantos outros profissionais de sade dedicados assistncia no ltimo
perodo de vida, Hennezel e Faur elaboram construes tericas sobre o luto vi-
venciado pelo prprio doente no final da sua vida e por seus familiares e amigos
durante o processo do morrer e aps o falecimento do enfermo. A partir dessa
perspectiva, postulam formas de acompanhamento, na direo de alcanar uma
boa morte. De acordo com o iderio dos CP, para realizar esta meta preciso
atingir a etapa de aceitao do trmino da vida, o que significa uma elaborao
subjetiva em torno da finitude da existncia individual. Tal pressuposto baseia-
-se no modelo de estgios psicolgicos formulado pela psiquiatra Elizabeth
Kubler-Ross (1969), que se tornou referncia central na assistncia paliativa. De
acordo com esta autora, quando o doente toma conscincia do avano de sua en-
fermidade, ele passa por cinco fases: negao, revolta, barganha (ou negociao),
depresso e aceitao. A quinta e ltima etapa considerada como condio pri-
mordial de uma sada tranquila e pacfica da vida. Em outros termos, trata-se
da categoria tida como imprescindvel para o morrer bem.
Em 2010, o 18 Congresso Internacional de Cuidados Paliativos contou, en-
tre os principais conferencistas internacionais, com a presena de Hennezel e
Faur. Em 7 de outubro, os dois franceses integraram a Sesso Plenria intitula-
da Mortalidade, negao e integrao, sob coordenao de Bernard Lapointe, m-
dico paliativista canadense. O nmero de inscritos no evento foi de mil trezen-
tos e oitenta e quatro pessoas (segundo informao veiculada no site do evento4),
vindas de sessenta pases. Por ocasio desta atividade, o auditrio estava repleto
(cerca de mil pessoas), uma vez que os dois profissionais so autores de renome
entre os militantes da causa da boa morte, com uma extensa produo biblio-
grfica sobre a assistncia paliativa. Vale mencionar que as lnguas oficiais do
panhamento de pessoas no final da vida e de seus prximos. autor de obras sobre o processo do luto. Confira
em: <http://www.christophefaure.com/component/option,com_frontpage/Itemid,1/>.
4 Disponvel em: <http://www.palliativecare.ca/sp/programme/programme_highlights.html>. Acesso em 30 set. 2011.
327
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 327 25/07/2013 09:08:57
rachel aisengart menezes
congresso eram ingls, francs e espanhol. Nas sesses plenrias havia tradu-
o simultnea.
Em sua conferncia A vida mais forte do que a morte: entre a negao e a es-
perana, Hennezel indagou sobre o que ocorre com certos pacientes, que se
encontram na fase terminal da doena, quando apresentam um quadro que
evidencia um aumento de sua vitalidade. A conferencista tambm se referiu
ao fato de que muitos doentes, sobretudo os morredores,5 expressam uma
grande capacidade de amar no final de suas vidas.6 A psicloga levantou ainda
outras questes: estariam estes doentes negando sua condio, em face de uma
realidade inaceitvel? Suas reaes estariam relacionadas ao fato de que o in-
consciente no acredita na morte e de que toda pessoa humana sente, no fundo
de seu ser, que a vida mais forte do que a morte? Qual o significado deste in-
cremento de vitalidade? Teria um papel relevante a desempenhar na concluso
da vida humana? O que ocorre com estes pacientes? Como explicar o paradoxo:
sei que vou morrer, mas me comporto como se no acreditasse nisso?
Para a psicanalista francesa, este tipo de comportamento observado em
enfermos terminais consiste em indcio de que a quarta fase (depresso) j
teria sido ultrapassada. Portanto, trata-se da aceitao de seu destino: a mor-
te. Apoiada nas reflexes de alguns psicanalistas, em especial de Michel de
Muzan, Sigmund Freud, Marie-Louise Von Franz, Lou Andras Salom e Carl
Gustav Jung, Hennezel debate o lugar da morte no inconsciente humano. Abor-
da conceitos fundamentais da psicanlise e da psicologia jungiana, como nar-
cisismo, representao e clivagem do eu, ncleos psicticos, inconsciente co-
letivo, entre outros, alm dos temas memria, histria e temporalidade.
Ao final de sua fala, menciona os outros presentes neste processo: a fam-
lia e a equipe que cuida do moribundo. Para familiares e profissionais de sade,
o desejo de viver e a aparente melhora do enfermo provocam incmodo. A
palestrante ilustra sua apresentao com casos de pacientes acompanhados
por equipes de CP que falavam da cura e do retorno para suas casas. Refere-
5 Morredor um termo muito utilizado por profissionais de sade em referncia ao doente com grande avano
da enfermidade, na iminncia da morte. Esta palavra tem sido usada recentemente, em substituio a mori-
bundo, por no ser considerada politicamente e medicamente adequada.
6 Este dado recorrentemente referido entre profissionais de sade que militam pela causa da boa morte, por
exemplo, em Byock (1997) e Cesar (2001).
328
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 328 25/07/2013 09:08:57
morte e produo de sentidos
-se tambm a situaes nas quais os doentes afirmavam seu desejo de viver,
custasse o que custasse. Em suas palavras: sentamos vontade de cham-lo
realidade e, portanto, sua morte.7 Para Hennezel, foi somente quando a
equipe tomou conscincia, em uma reunio, de que ela poderia modificar sua
atitude, respeitar este sopro de esperana, que traduz justamente o paradoxo
e a experincia ntima de uma vida que no pode morrer. Em sua opinio, o
paradoxo escapa aos que vivem em boa condio de sade.
A psicloga indica tambm um risco presente nesta afirmao da vida
pelo paciente. Em face da aparente melhora do enfermo, por vezes alguns m-
dicos consideram a possibilidade de retomada do tratamento curativo ou a
transferncia da unidade paliativa para um servio de assistncia voltado
cura. De acordo com a conferencista, somente a experincia clnica no acom-
panhamento do final da vida permite uma percepo do que est em jogo: esta
fora de vida.
Hennezel prope uma interpretao baseada no pressuposto de que h um
trabalho subjetivo empreendido pelo morredor: o trabalho do falecimento.
Para ela, seria um ltimo esforo na construo de entrar vivo em sua morte.
Em outras palavras, trata-se da concluso e elaborao da prpria vida e morte.
Nesse sentido, o acompanhamento por parte de profissionais de sade, de fa-
miliares e/ou amigos condio para possibilitar um bom trabalho de conclu-
so da vida e a produo de uma boa morte. Indo alm, segundo a psicloga,
o acompanhamento do processo do morrer consiste em uma experincia inici-
tica, capaz de auxiliar na elaborao subjetiva da prpria morte. Essa vivncia
associada a uma iniciao est relacionada filosofia budista, sobretudo no
que tange formulao acerca da morte.
A psicloga categoriza os pacientes: h os que aceitam o trmino da vida e
h os que morrem antes de morrer. Estes ltimos se dividem entre aqueles
que se deixam morrer e os que suplicam que abreviem seus dias. Assim,
os profissionais de sade esto remetidos a um tipo ideal de doente. Portanto,
provavelmente quele que se afasta desse modelo atribudo algum juzo de
7 Traduo de minha autoria, como de outros trechos da conferncia, salvo meno expressa.
329
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 329 25/07/2013 09:08:57
rachel aisengart menezes
valor por parte de equipes paliativistas.8 No somente o enfermo categoriza-
do, como tambm seus familiares. Assim, consequentemente, os paliativistas
atuam com pacientes e familiares com o objetivo de orient-los na direo da
trajetria ideal da boa morte.
Morrer com os olhos abertos9 o expressivo ttulo de um dos livros de Ma-
rie de Hennezel, que divulga sua perspectiva e abordagem: cada pessoa pode
preparar sua morte, vivendo o mais conscientemente possvel. Cada um pode
se aproximar de sua morte com os olhos abertos se a morte no negada, se
os acompanhantes a aceitam; se h suficientemente verdade e amor em torno
daquele que morre. Cada um pode fazer de sua morte uma lio de vida para
os outros. (Hennezel, 2005) Conclui-se, portanto, que, alm da elaborao
psquica do doente, necessrio que seus prximos desenvolvam um trabalho
subjetivo e intersubjetivo, para que acontea uma morte consciente que, em
ltima instncia, uma boa morte.
Christophe Faur, em sua conferncia O luto plenamente consciente: entrar
no corao do sofrimento, proferida imediatamente aps a de Hennezel, con-
vergiu com a posio da colega francesa. Ele afirmou que preciso construir
a morte de uma maneira inteira, calma e integrada. O psiquiatra se apoia em
concepes provenientes da filosofia budista10 da mesma maneira que sua
colega francesa , por consider-las de utilidade no entendimento do processo
vivenciado pelo doente, nomeado como desidentificao. A ideia de que um
esvaziamento progressivo da mente do paciente auxilia e conduz a uma acei-
tao do morrer central para Faur. Nesse sentido, aqueles que acompanham
e cuidam do enfermo devem toc-lo suavemente, com massagens, ao som de
msica para relaxamento, com o objetivo de conduzir a um estado de desliga-
mento da realidade concreta.
8 A formulao de tipos ideais de pacientes e a estigmatizao dos que se afastam desse modelo no exclusiva
de profissionais dedicados aos Cuidados Paliativos. O tema recorrente em pesquisas sobre instituies e
profisses de sade, como em Becker (1992), sobre a formao mdica; em Menezes (2001), sobre tomada de
decises referentes aos internados em centros de tratamento intensivo; e em Tornquist (2002, 2003, 2006), no
que concerne ao modelo de parto humanizado em maternidades pblicas no sul do Brasil.
9 Ttulo original: Mourir les yeux ouvertes.
10 Diversamente de outros pases, no h uma nfase no referencial religioso nos Cuidados Paliativos
implantados na Frana: a tnica recai sobre uma leitura psicolgica e psicanaltica. (CASTRA, 2003) No
entanto, recentemente observa-se a adeso e uso da filosofia em servios de assistncia paliativa neste pas.
330
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 330 25/07/2013 09:08:57
morte e produo de sentidos
A importncia da participao dos familiares e/ou amigos no processo de
elaborao da vida e de seu trmino justificada por um princpio terico da
fsica quntica, que afirma a influncia do pesquisador sobre o objeto de inves-
tigao. Assim, a presena do outro possibilita que a pessoa alcance uma morte
aceita e harmoniosa, o que significa que a aceitao dos prximos condio
para a produo da boa morte do enfermo. De acordo com ambas as falas, o
trabalho do luto concludo quando aqueles que acompanham o doente con-
seguem aceitar o falecimento. No entanto, para superar e ultrapassar o proces-
so do luto, no basta alcanar a etapa da aceitao: preciso, ainda, aprender
a lio de amor transmitida pelo enfermo. Tal pressuposto converge com as
formulaes de Kubler-Ross (1975), que considera a morte como etapa final do
crescimento individual do paciente e uma oportunidade de desenvolvimento
espiritual para seus prximos.
Ao trmino das duas conferncias, a audincia aplaudiu vigorosamente,
expressando aprovao e admirao pelas mensagens transmitidas. Cabe re-
ferir que praticamente todos os inscritos no congresso eram profissionais de
sade dedicados aos CP. A coordenao da mesa abriu a sesso para pergun-
tas, o que propiciou o desenvolvimento da ideia central da morte consciente.
Tanto para Hennezel quanto para Faur, nos ltimos momentos de vida po-
dem ocorrer dois fenmenos, intimamente articulados: o desprendimento
de si e a elaborao da prpria vida. Dito de outro modo, os conferencistas
indicaram a possibilidade de uma iluminao acerca dos sentidos da vida e
da morte. Segundo seu ponto de vista, o trabalho de equipes paliativistas deve
ser dirigido a esta meta.
Uma indagao se destacou das demais, indicando as dificuldades de viabi-
lizao da produo de uma morte pacfica e aceita: o que deve ser feito quan-
do o doente apresenta agitao no final da vida? E a sedao?. Marie de Henne-
zel respondeu como psicanalista, apresentando outra pergunta: sedao para
acalmar quem? O mdico?. O questionamento denota uma crtica ao uso de
recursos para controle da agitao,11 uma vez que as medicaes utilizadas para
11 De acordo com manuais de CP, o quadro clnico de agitao terminal frequentemente observado na
assistncia a doentes fora de possibilidades teraputicas de cura. A conduta mdica prescrita por este tipo
de literatura o uso de medicao sedativa.
331
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 331 25/07/2013 09:08:57
rachel aisengart menezes
este quadro clnico geralmente conduzem a uma alterao do estado de consci-
ncia, de maneira a dificultar ou impossibilitar uma morte consciente.
Esta e outras indagaes que se seguiram evidenciaram posicionamen-
tos discordantes ou ao menos com dvidas acerca das possibilidades de via-
bilizao, na prtica, das proposies de Hennezel e Faur. Antes de proferir a
questo, cada pessoa se identificava em geral, como membro de uma equipe
paliativista, indicando o tempo de trabalho nesta rea. A pergunta sobre a ne-
cessidade de sedao indica no somente a existncia de mltiplos e complexos
fatores que intervm na trajetria do morrer bem, como tambm a formulao
de distintas interpretaes em torno de cada situao ou demanda expressa.
A plateia solicitou que Hennezel se posicionasse em relao s frequentes
demandas de pacientes terminais por autorizao de eutansia e/ou de suic-
dio assistido.12 Para a psicloga francesa, pedidos pela interrupo de recursos
para manuteno da vida constituem indcio de que o doente no est sendo
bem assistido por uma equipe bem treinada e habilitada em CP. Segundo seu
ponto de vista, todo paciente bem acompanhado no pede ajuda para morrer.
Alm desta justificativa, a psicanalista postula a existncia de alguma pro-
blemtica espiritual expressa pelo pleito de morte. Desse modo, configura-se
um constructo em torno da elaborao espiritual da vida e da morte. Cabe
mencionar que Hennezel e Faur se opem radicalmente s propostas de le-
galizao da eutansia e/ou do suicdio assistido em seu pas.
Os posicionamentos dos dois profissionais indicam o surgimento de no-
vas formulaes acerca da noo de pessoa, de sua interioridade, de seus di-
reitos de autonomia e da produo de sentidos para sua dor e sofrimento.
Pessoa e trabalho na direo da morte: desidentificao e singularidade
De acordo com Strathern (1992, p. 64), na cultura ocidental moderna, a morte
no retira a identidade ou individualidade da pessoa, que continua a existir na
12 A eutansia pode ser ativa ou passiva; voluntria ou involuntria. A ativa envolve a ao de um mdico,
coadministrao de injeo letal; a passiva concerne omisso de recursos (medicamentos, hidratao e
alimentao). (HOWARTH; LEAMAN, 2001, p. 177) A eutansia voluntria se refere ao desejo do doente e a
involuntria est associada sua incapacidade de expressar o consentimento. O suicdio assistido se distingue
da eutansia pelo sujeito que executa a ao: o prprio doente ingere as drogas prescritas pelo mdico para
o propsito de causar a morte.
332
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 332 25/07/2013 09:08:57
morte e produo de sentidos
memria dos que permanecem. O indivduo como valor central deve per-
manecer, assim como suas relaes. Ainda segundo Strathern,
[...] a partir da premissa de que os ingleses encaram a pessoa como nica,
as relaes nas quais ela est inserida contribuem para sua histria indivi-
dual. Mas a pessoa tambm distinguvel de suas relaes. precisamente
porque os agentes individuais so assim concebidos como tendo uma exis-
tncia parte de suas relaes que, aps a morte, elas podem permanecer
como eram. (Strathern, 1992, p. 65).
Em determinadas culturas no ocidentais, a morte determina um processo
de desconcepo do sujeito pelo grupo social, quando o nome do morto
apagado, em um processo de despersonalizao.13 J na cultura ocidental mo-
derna, o indivduo consiste em valor central. Esta acepo se baseia no que Du-
mont (1985) nomeia de ideologia do individualismo. De acordo com Duarte e
Gomes, o indivduo ideal caracterizado por
[...] uma autonomia primordial, garantida por uma srie de atributos: o da
alma individualmente criada e portada; o da razo naturalmente implanta-
da em cada sujeito humano; o da igualdade, que deve presidir a sua posio
no mundo; o da vontade (ou livre-arbtrio), que permite razo se expres-
sar numa agncia particular; o da propriedade de si e das coisas do mundo;
o da interioridade em que se espraia sua autoconscincia; o da singularida-
de que os torna insubstituveis em relao a cada um de todos os demais se-
res humanos; e o da criatividade, que lhes permite inventar a singularidade
de suas vidas individuais. (DUARTE; GOMES 2008, p. 242)
Em outros artigos (Menezes, 2006, 2009, 2010, 2011; Menezes; Gomes,
2011) so abordadas e analisadas a criao de diferentes maneiras de constru-
o do processo do morrer e a produo de novos rituais em torno da morte
(velrio, funerais, cremao, cerimnias, missas, entre outros). Nas distintas
formas de configurao do processo do morrer, de acompanhamento do pa-
ciente e de prticas referentes ao corpo e memria do falecido, um elemento
13 Do ponto de vista dos trobriandeses e de outras sociedades no Massim, isto representa uma curiosa inverso
na conceituao de pessoa. L a pessoa definida por intermdio de suas relaes sociais ao longo da vida
[...]. Com a morte elas no so destrudas. Quando a vida cessa quando a pessoa no mais ativa em suas
relaes com os outros , os que se relacionaram com o falecido devem alterar a relao. Sem que isso seja
realizado, o morto continua a influenciar os vivos. (STRATHERN, 1992, p. 64)
333
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 333 25/07/2013 09:08:57
rachel aisengart menezes
comum se apresenta: a preeminncia da manuteno da identidade pessoal.
Para tanto, faz-se necessrio o respeito autonomia individual.
Na retrica de Hennezel, assim como para outros militantes da causa da
boa morte, a dimenso subjetiva e a singularidade do enfermo so de extrema
importncia para o morrer bem. Os profissionais de sade e aqueles que cui-
dam do doente devem estar atentos expresso de desejos e sua concretiza-
o. De certo modo, s marcas pessoais de quem est em seu ltimo perodo de
vida so atribudos sentidos muito especiais, quase sagrados.
Hennezel (e outros defensores da causa, como Byock, 1997) recomenda que
a equipe estimule o doente a elaborar uma releitura da prpria existncia. Esta
tarefa dirigida aceitao da morte e resoluo das pendncias materiais,
afetivas e relacionais, para conduzir a uma boa concluso da vida. Mgoas, con-
flitos e desentendimentos devem ser enunciados e resolvidos no dilogo com
as pessoas prximas. Os sentimentos positivos como amor e generosidade
tambm devem ser expressos. Na prescrio do modelo da boa morte, todas as
manifestaes precisam contar com a singularidade da pessoa. Espera-se que o
indivduo moderno, autnomo e singular construa uma trajetria personalizada.
Ele deve escolher sua religio, identidade sexual, parceria afetivo-sexual, se quer
ou no ter filhos em que momento, quantos, de que maneira , optar por uma
profisso e, por fim, aceitar a sada da vida. Contudo, no basta atingir a quinta
etapa de Kubler-Ross, necessrio que ele construa um percurso adequado, de
acordo com o iderio paliativista.
Trata-se de um processo sofisticado de normatizao do morrer, que com-
porta a afirmao do indivduo e da famlia como valores da ideologia domi-
nante na cultura ocidental moderna. Como se d em outras instituies (por
exemplo, famlia e religio), o aparato mdico-psicolgico configura discursos
e prticas a servio da manuteno da cosmologia e da ideologia individualis-
ta. Assim, o trabalho subjetivo e as interpretaes psicolgicas/psicanalticas
esto inseridas em um projeto mais amplo, de afirmao do valor do indivduo.
Nesse contexto, como entender a proposta de Faur, de busca de um proces-
so de desidentificao da pessoa, em sua trajetria na direo da boa morte?
De acordo com o psiquiatra francs, para que o morrer seja construdo de modo
pacfico, o doente deve buscar um afastamento de sua realidade concreta, o que
significa um estado de desligamento e de perda de controle sobre as circunstn-
334
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 334 25/07/2013 09:08:57
morte e produo de sentidos
cias do trmino de sua vida. Para ele, preciso realizar um desprendimento de
si. Trata-se de um paradoxo, pois, segundo o iderio paliativista, a capacidade
de livre-arbtrio e de controle sobre a prpria vida, sofrimento e morte so aspec-
tos centrais para a construo do morrer bem. Para alcanar a iluminao o
enfermo deve ser autnomo, efetuando escolhas nas diversas reas de sua vida,
como o local em que quer morrer; quem o acompanha; para quem deixar seus
objetos; como ser o ritual aps o bito; repensar sobre sua trajetria de vida;
rever seus vnculos afetivos; despedir-se, expressando seu amor e generosidade;
e, ao mesmo tempo, se entregar espiritualmente.
A tarefa do paciente ampla e complexa, assim como a de seus familia-
res e da equipe paliativista. A dor e o sofrimento fsico no carregam mais o
mesmo significado que possuam na sociedade tradicional. Assim, o controle
dos sintomas um dos princpios da assistncia em sade, para proporcionar
qualidade de vida ao enfermo. No entanto, os recursos teraputicos analgsi-
cos (sobretudo derivados dos opiides, como morfina), em grande parte, acar-
retam certa perda de conscincia e, por vezes, alucinaes visuais. Alm disso,
em muitos casos os profissionais no conseguem um controle efetivo da dor e/
ou dos sintomas, com o avano da doena. Contudo, neste tipo de situao no
h espao para a escuta de pedidos por eutansia e/ou suicdio assistido por
parte dos doentes e/ou de seus familiares. Tais demandas so interpretadas
pelos profissionais como evidncia de falhas na ateno e no cuidado.
Neste modelo configura-se uma noo de pessoa ideal, que deve ser au-
tnoma at determinado ponto. Ela no deve ultrapassar certos limites, como
decidir como e quando morrer, o que possvel em contextos que possuem
legislao que autoriza a eutansia ou o suicdio assistido.
Produo de sentidos para a morte: limites e possibilidades de exerccio
da autonomia individual
A autonomia individual consiste em valor de extrema relevncia e centralida-
de na cultura ocidental moderna. Para os militantes da causa dos Cuidados
Paliativos, o exerccio do livre-arbtrio est associado a uma vasta gama de
escolhas, conforme referido: recursos teraputicos, rede de sociabilidade que
acompanha e compartilha o processo do morrer, rituais, delegao de tarefas,
335
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 335 25/07/2013 09:08:57
rachel aisengart menezes
mensagens para os que ficam, entre outras. Tal exerccio no considerado
legtimo, ao se tratar de deciso pela interrupo da vida, o que justamente
o que reivindicam os defensores da eutansia e/ou do suicdio assistido. Para
estes ltimos, o verdadeiro sujeito autnomo, na vigncia de enfermidade de-
generativa terminal sem possibilidades de cura, aquele com capacidade para
definir seus limites de suportabilidade de sofrimento. A partir de uma condi-
o de existncia avaliada como sem sentido, quando a dor e o desconforto
ultrapassam a possibilidade de fruio do viver, o indivduo deve ter o direito
de optar pela morte.
A aprovao oficial pioneira da eutansia voluntria ativa ocorreu no terri-
trio do norte da Austrlia em 1996, mas a prtica vigorou por oito meses, at o
embargo da lei pelo Parlamento federal. Em 2001 a Holanda foi o primeiro pas
a legalizar a eutansia, seguido pela Blgica, em 2002, e por Luxemburgo, em
2009. O suicdio assistido no autorizado na Blgica, sendo aceito na Holanda
e Luxemburgo. Atualmente a Holanda e a Blgica discutem sobre as possibili-
dades de ampliao da lei da eutansia para crianas e pessoas com deficincia
mental ou demncia.
Em 2009 foi aprovado projeto de lei no Uruguai que autoriza pacientes termi-
nais a optarem pela interrupo de tratamento, o que foi definido no pas como
direito eutansia. Em 2010 a Justia da Alemanha deliberou que o suicdio as-
sistido legal no pas, caso o doente efetue autorizao expressa. Em todos os
outros pases do ocidente, como no Brasil, a eutansia e o suicdio assistido so
criminalizados. Na maioria dos estados do Canad e dos Estados Unidos h leis
que permitem a interrupo de tratamentos pelos mdicos, com autorizao do
paciente ou de seu representante legal. As leis dos estados destes pases contam
com diferenas importantes em suas formulaes. Os estados norte-americanos
do regon e Washington so os nicos que permitem o suicdio assistido.14
14 O suicdio assistido foi aprovado no estado de regon em 1994 e, em 2009, no estado de Washington. Dois
mdicos devem atestar que o paciente se encontra em estado de doena terminal, com seis meses ou menos
de vida. O doente deve expressar dois pedidos oralmente, no espao de quinze dias, e assinar uma solicitao
por escrito, testemunhada por duas pessoas. O requerente deve comprovar residncia no estado, o que
indica uma preocupao, por parte do governo, com o fenmeno do turismo do suicdio, como ocorre na
Europa, em relao Sua. O tema do suicdio assistido tem recebido maior visibilidade nos Estados Unidos
a partir da premiao do documentrio How to die in Oregon, de Peter Richardson, na 27 edio do Festival
de Cinema de Sundance, em 2011.
336
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 336 25/07/2013 09:08:57
morte e produo de sentidos
A Sua condena a eutansia e o suicdio assistido autorizado por lei des-
de 1941. A organizao no governamental Dignitas, em Zurique, a principal
responsvel pelo fenmeno nomeado de turismo do suicdio. Desde sua fun-
dao, em 1998, a organizao promove suicdios assistidos, aps apresentao
de atestado mdico que comprove a inexistncia de chances de cura, alm de
avaliao profissional de condies de deciso livre e autnoma do enfermo.
Um conselho de mdicos suos associados instituio verifica e corrobora o
diagnstico de doena incurvel e/ou incapacitao fsica grave, autorizando
institucionalmente a demanda.
A aprovao de leis acerca da interrupo voluntria da vida foi decorrente
de movimentos em defesa do direito de autonomia individual, pela determi-
nao em torno do final da vida. Para os defensores da eutansia e/ou do sui-
cdio assistido, a boa morte aquela planejada e organizada detalhadamente
pelo enfermo. No caso de suicdio assistido, as decises recaem sobre diversos
aspectos subjetivos e objetivos, como: o momento da compra das drogas letais;
em que lugar elas sero guardadas; quem acompanha as consultas; quais pes-
soas assinam o requerimento como testemunhas. No que concerne s ltimas
decises, h uma ateno especial para o local e a ambincia para o aconteci-
mento da morte: as pessoas presentes, o horrio, o destino do corpo, as cerim-
nias aps o bito, entre outras questes e possibilidades.
Da mesma maneira que os paliativistas, os defensores do direito de decidir
pela interrupo da vida tambm elaboram uma trajetria na direo da boa
morte. O suporte de um grupo de voluntrios de movimentos no governa-
mentais pela morte com dignidade desempenha papel central nesta produo.
Assim como os profissionais de Cuidados Paliativos, os militantes da eutansia
e do suicdio assistido informam ao paciente e aos seus familiares os modos de
controle sobre o morrer. No caso do suicdio assistido, quando a pessoa toma a
deciso, entra em contato com um voluntrio, que indaga sua certeza e expressa
a possibilidade de mudana de deciso. A partir de resposta positiva, so trans-
mitidos dados sobre o sabor da droga letal (no caso do suicdio assistido), acerca
dos efeitos e sensaes aps a ingesto do medicamento, sobre o tempo de per-
da de conscincia at o falecimento. Ao se tratar de eutansia, seja ela ativa ou
passiva, o mdico tambm presta esclarecimentos detalhados para o enfermo e
seus familiares sobre as sensaes e os procedimentos adotados.
337
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 337 25/07/2013 09:08:57
rachel aisengart menezes
A diferena primordial entre os dois grupos de militantes pr e contra
a eutansia e/ou o suicdio assistido se centra no direito de interromper a
vida. Duas categorias recebem distintas interpretaes e sentidos: autonomia
individual e valor da vida. Para uns, o direito de autonomia se estende at a
possibilidade de deliberao sobre a interrupo de uma vida avaliada como
sem sentido ou sem dignidade. Para outros, a vida consiste em valor maior
e, portanto, o direito de autonomia est subsumido sacralidade da vida.
expresso morte com dignidade so atribudos diferentes significados, se-
gundo o posicionamento dos atores sociais na polmica em torno do direito
de livre-arbtrio no morrer.
Na concepo dos direitos humanos se apresenta mais um aspecto: o direito
de no sofrer tortura. Tanto os profissionais e militantes dos Cuidados Paliativos
quanto os defensores da legalizao da eutansia e do suicdio assistido levam
em conta o direito a no sofrer. Os dois movimentos se opem s frequentes pr-
ticas, empreendidas em hospitais, de prolongamento e/ou manuteno da vida
por intermdio de procedimentos que invadem o corpo do paciente ou mediante
uso de aparelhagem, quando no h mais possibilidades de cura. O exerccio de
uma medicina excessivamente tecnolgica consiste em objeto de crticas, veicu-
ladas pelos dois grupos de militantes. Contudo, em contextos nos quais o acesso
a tais recursos tecnolgicos se restringe a uma parcela da populao como no
Brasil, por exemplo , por vezes a demanda do doente e de seus familiares recai
justamente sobre a utilizao de todas as possibilidades, sobretudo de aparelhos
modernos. Diante desse tipo de situao, profissionais brasileiros de Cuidados
Paliativos buscam informar e transmitir os valores de uma boa morte em casa,
sem uso de aparelhagem. Em outros termos, trata-se de uma pedagogia a servio
de uma causa.
O sofrimento do doente fora de possibilidades teraputicas de cura pode
ter diversas origens e ser expresso de distintas formas, o que varia de acordo
com o contexto sociocultural em que est inserido, com sua crena religio-
sa, com sua cosmologia, faixa etria, seus referenciais e, em especial, com sua
rede de sociabilidade. Equipes de sade efetuam diferentes leituras em torno
do sofrimento, a partir das concepes de cuidado e de uma boa assistncia.
Na contemporaneidade, configura-se um panorama no qual a produo de uma
boa morte seja ela consciente ou no, de olhos abertos ou no, em casa ou
338
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 338 25/07/2013 09:08:57
morte e produo de sentidos
no hospital, provocada por medicamentos ou no depende das ideias acerca
de autonomia individual e de vida e dos valores conferidos a esses conceitos.
Eficcia simblica e o morrer bem
A busca pela realizao pessoal consiste em noo central na cultura ocidental
moderna, e o livre-arbtrio condio fundamental para atingir esta meta. Con-
tudo, essa concepo se fundamenta em um sistema de crenas vigente, que
atribui preeminncia ideia do homo clausus (Elias, 2001, p. 63), conduzindo a
uma distorcida autoimagem de uma pessoa como um ser totalmente autnomo
(Elias, 2001, p. 66), singular e sujeito e agente nico de suas decises. De acordo
com Hervieu-Lger (1993, p. 143), a cultura moderna do indivduo envolve um
direito individual subjetividade.15 Em sua abordagem sobre este tema, Luiz
Fernando Duarte utiliza a expresso individualismo tico, que se remete tanto
nfase na associao da racionalidade moderna com um ethos desencantado
quanto a uma propriedade sociolgica mais imediata, j que, ao valor da liber-
dade de opo se acoplam a possibilidade legal e a prtica de atualiz-lo, em tais
ou quais condies. (Duarte, 2005, p. 155)
Trata-se, portanto, da viabilidade de autorizao (ou no) de determinados
procedimentos como condio para assegurar e/ou reforar a crena no pleno
exerccio da autonomia pessoal. Na tomada de decises em torno do final da
vida esto em cena diversos atores sociais, com suas diferentes percepes
sobre o bem morrer e acerca das possibilidades de alcanar esta condio.
Para que qualquer modelo de construo da boa morte seja considerado efi-
caz so necessrias interaes com negociaes em torno dos distintos senti-
dos atribudos pelos sujeitos e, sobretudo, em torno dos processos de interio-
rizao, subjetivao e de elaborao acerca da trajetria a ser empreendida.
O conceito de eficcia simblica, como definido por Lvi-Strauss (1996a, p.
193, 215), no contempla a multiplicidade de aspectos e questes que se apre-
sentam sobre o tema em pauta. Entretanto, h elementos comuns a sociedades
tradicionais ou complexas no que tange eficcia simblica de certas prticas
15 O estudo de Hervieu-Lger (1993) aqui mencionado se refere possibilidade de escolha por adeso religiosa
na Frana.
339
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 339 25/07/2013 09:08:57
rachel aisengart menezes
e procedimentos. A adeso a uma viso de mundo, que no necessariamente
corresponde a uma realidade objetiva, de suma importncia, pois a doente
acredita nela, e ela membro de uma sociedade que acredita. (Lvi-Strauss,
1996a, p. 228) Cabe acrescentar a relao entre smbolo e coisa simbolizada ou,
em terminologia lingustica, entre significante e significado. A autoridade (o
xam) fornece sua doente uma linguagem na qual se podem exprimir ime-
diatamente estados no formulados, de outro modo informulveis. (Lvi-
-Strauss, 1996a, p. 228, grifo do autor).
No cenrio contemporneo, um conjunto diversificado e heterogneo de
servios oferecido em relao ao acompanhamento e assistncia do proces-
so do morrer.16 Conforme referido, as propostas so divergentes, demandando
posicionamentos dos atores sociais envolvidos. Prosseguir ou no com o trata-
mento curativo? Manter ou no recursos para um prolongamento do tempo de
vida? Direcionar a ateno para uma qualidade de vida? O que significa este
conceito? Utilizar ou no medicamentos para controle da dor, uma vez que eles
acarretam efeitos colaterais, como alterao do nvel de conscincia? Todos os
doentes e seus familiares desejam receber informaes detalhadas sobre a pro-
gresso da enfermidade e acerca das possibilidades teraputicas? Quais os sen-
tidos atribudos autonomia? Estas entre tantas outras indagaes podem
ser levantadas na gesto contempornea do morrer.
A realizao de metas concernentes ao trmino da vida depende necessa-
riamente das concepes s quais os sujeitos esto remetidos. Indo alm, no
se trata somente de sistemas de crenas, mas de processos subjetivos que so
constantemente atualizados em face de cada vicissitude que surge no desenrolar
da doena/tratamento, no mbito das relaes entre os atores sociais envolvidos
(equipe de sade, rede de sociabilidade) e, em especial, diante da emergncia de
novas proposies de gesto do morrer, como leis, normas, resolues, entre ou-
tras. Acrescente-se o papel central da mdia na contemporaneidade, no que tan-
ge s mudanas e transformaes de mentalidades, condutas, comportamentos
e produo de sentimentos em torno de cada novidade ou objeto de consumo.
16 O mesmo observa-se em relao a outras esferas da vida, como famlia, raa/etnia, identidade sexual,
reproduo, sexualidade, conjugalidade, adeso e trnsito religioso, entre outras questes referentes
pessoa/indivduo e vida em sociedade.
340
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 340 25/07/2013 09:08:57
morte e produo de sentidos
A ideologia da sade, da perfeio corporal e, em suma, da felicidade17
constituem referncias centrais na cosmologia vigente no ocidente. institui-
o mdica e aos saberes cientficos e biomdicos foi delegada a responsabili-
dade de proviso de recursos e de bens para atender s demandas de produo
de indivduos saudveis.18 Outras instituies como famlia, religio e Estado
(instncias legislativa, executiva e judiciria) so encarregadas da constru-
o de pessoas autnomas, remetidas ideologia individualista. Essa trama de
instituies e relaes operada em distintos planos da sociedade, em macro
e microesferas polticas, com dinmicas as mais variadas. Nesses processos
destacam-se certas noes, no que tange ao tema aqui abordado, como direitos
individuais e esperana na garantia de tais direitos.
O ttulo da conferncia de Hennezel no congresso de Cuidados Paliativos
contm a palavra esperana, o que constitui indcio da relevncia dessa cate-
goria no iderio da boa morte. Para os militantes dessa causa, trata-se da espe-
rana de no sofrer (controle da dor e dos sintomas), de no morrer s (presena
da equipe e de pessoas prximas), de efetuar uma boa concluso da vida (res-
gate, expresso dos paliativistas brasileiros), com despedidas, e, talvez, de
passagem a outra esfera espiritual (crena na existncia de outra vida, aps a
morte). A eficcia simblica dessa modalidade de assistncia depende da trans-
misso e do compartilhamento desses ideais, o que objeto de uma pedagogia
e de um conjunto de prticas por parte de equipes de sade. Indo alm, cabe in-
dagar de que maneiras os distintos atores sociais percebem a concretizao dos
objetivos desse tipo de assistncia. Trata-se de uma eficcia para quem? Para o
paciente terminal? Para seus familiares? Para profissionais de sade?
As mesmas perguntas podem ser levantadas em relao defesa de direito
de eutansia e/ou suicdio assistido, pois essas propostas se inserem no con-
junto dos direitos humanos e na ideologia que prescreve a autonomia pessoal
como valor. Seja qual for o sistema de crenas e/ou o posicionamento em tor-
no do direito de deliberao individual no ltimo perodo de vida, verifica-se a
existncia de uma construo ideolgica/terica/poltica, que informa os sujei-
17 A categoria felicidade merece uma discusso mais aprofundada, o que no possvel no mbito deste artigo.
18 Esse processo de delegao social conduziu a um quadro de excessos de poder do mdico, aspecto que tem
sido abordado pela produo das cincias sociais.
341
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 341 25/07/2013 09:08:57
rachel aisengart menezes
tos sobre as possveis vias de produo de realizao ou de felicidade. Quando
militantes em prol da eutansia e/ou do suicdio assistido divulgam suas ideias,
a esperana consiste no controle sobre as circunstncias da prpria morte. Tal
esperana repousa sobre a concepo de uma extenso mxima da autonomia
individual, abrangendo todos os detalhes envolvidos no trmino da vida e nas
cerimnias aps o bito. Trata-se de uma crena/iluso nos limites da determi-
nao pessoal, j que o exerccio autnomo depende basicamente de relaes
sociais, que proporcionam suporte para um morrer conforme desejado pelo
doente e para a concretizao dos rituais aps o falecimento.
A morte e o morrer demandam e sempre demandaram uma produo de
sentidos pela coletividade. As prticas e os rituais criados em torno desse pro-
cesso/evento refletem os valores e as crenas compartilhadas por cada grupo,
cultura ou sociedade. O destino concedido ao corpo e as formas pelas quais o
morto lembrado e/ou cultuado informam a identidade social dos vivos. (Kau-
fman; Morgan, 2005, p. 323) Na cultura ocidental moderna, caracterizada
pelo consumo, evidencia-se a oferta de um consumo dirigido produo de
uma boa morte. Contudo, para que um determinado produto se mostre eficaz
social e culturalmente, preciso um trabalho anterior ao seu lanamento no
mercado, de criao de uma demanda. Esse processo conta com uma interio-
rizao e incorporao individual de valores e ideias, o que consiste em tarefa
complexa, empreendida ao longo do tempo, em interaes sociais.
No restam dvidas acerca da produo de necessidades em torno da
boa morte e do bem morrer, conforme indicam estudos recentes sobre a
temtica, que evidenciam o surgimento e a releitura de diferentes alternati-
vas em face de uma doena crnico-degenerativa. O mercado oferece cada vez
mais objetos, tecnologias, sentimentos, modos de conceber e guardar a me-
mria seja da vida de uma pessoa, de uma famlia, de um grupo ou cultura.
O exame da gesto contempornea da morte e da atribuio de sentidos para
a vida/morte capaz de revelar eixos e planos instituintes da vida em socie-
dade. Nesse artigo busquei contemplar alguns aspectos sobre a temtica, uma
vez que trata-se de questo complexa, em contnua transformao, que abarca
dinmicas mltiplas. Perguntas ainda permanecem espera de respostas, a se-
rem formuladas por estudiosos das cincias sociais.
342
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 342 25/07/2013 09:08:57
morte e produo de sentidos
Referncias
BECKER, Howard. Boys in white. Londres: Transaction, 1992.
BYOCK, Ira. Dying well: peace and possibilities at the end of life. New York: Riverhead
Books, 1997.
CASTRA, Michel. Bien mourir: sociologie des soins palliatifs. Paris: PUF, 2003.
CESAR, Bel. Morrer no se improvisa. So Paulo: Gaia, 2001.
CLARK, David; SEYMOUR, Jane. Reflections on Palliative Care. Buckingham: Open
University Press, 1999.
DUARTE, Luiz Fernando Dias. O imprio dos sentidos: sensibilidade, sensualidade e
sexualidade na cultura ocidental moderna. In: Heilborn, Maria Luiza. Sexualidade: o
olhar das cincias sociais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
DUARTE, Luiz Fernando Dias. Ethos privado e justificao religiosa: negociaes da
reproduo na sociedade brasileira. In: Heilborn, Maria Luiza et al. (Org.). Sexualidade,
famlia e ethos religioso. Rio de Janeiro: Garamond, 2005.
DUARTE, Luiz Fernando Dias; Gomes, Edlaine de Campos. Trs famlias: identidades e
trajetrias transgeracionais nas classes populares. Rio de Janeiro: FGV, 2008.
DUMONT, Louis. O individualismo. Uma perspectiva antropolgica da ideologia
moderna. Rio de Janeiro: Rocco, 1985.
ELIAS, Norbert. A solido dos moribundos. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
HENNEZEL, Marie de. Mourir ls yeux ouverts. Paris: Albin Michel, 2005.
HERVIEU-LGER, Danile. Present-day emotional renewals: the end of secularization
or the end of religion? In: SWATOS, W. (Org.). A future for religion? new paradigms for
social analysis. Londres: Sage, 1993.
HOWARTH, Glennys; LEAMAN, Oliver (Ed.). Encyclopedia of death and dying. Londres:
Routledge, 2001.
KAUFMAN, Sharon R.; Morgan, Lynn M. The anthropology of the beginnings and ends
of life, Annual Review of Anthropology, v. 34, p. 317-41, 2005.
KUBLER-ROSS, Elizabeth. On death and dying. New York: MacMilan, 1969.
KUBLER-ROSS, Elizabeth. Death: the final stage of growth. New Jersey: Prentice Hall,
1975.
LVI-STRAUSS, Claude. A eficcia simblica. In: _________. Antropologia estrutural. Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996a.
LVI-STRAUSS, Claude. O feiticeiro e sua magia. In: _________. Antropologia estrutural.
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996b.
MENEZES, Rachel Aisengart. Etnografia do ensino mdico em um CTI. Interface
comunicao, sade e educao, Botucatu, SP, v. 5, n. 9, p. 117-130, ago. 2001.
343
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 343 25/07/2013 09:08:58
rachel aisengart menezes
MENEZES, Rachel Aisengart. Em busca da boa morte: antropologia dos cuidados
paliativos. Rio de Janeiro: Garamond/Fiocruz, 2004.
MENEZES, Rachel Aisengart. Religiosidade e interpretao da morte. Religio e
sociedade, v. 26, n. 1, p. 174-196, 2006.
MENEZES, Rachel Aisengart. Preparao para a morte: entre religio, medicina e
psicologia. In: GOMES, Edlaine de Campos (Org.). Dinmicas contemporneas do
fenmeno religioso na sociedade brasileira. So Paulo: Ideias e Letras, 2009.
MENEZES, Rachel Aisengart. Autonomia e decises ao final da vida: notas sobre o
debate internacional contemporneo. In: PEREIRA, Tnia da Silva; MENEZES, Rachel
Aisengart; BARBOZA, Heloisa Helena. Vida, morte e dignidade humana. Rio de Janeiro:
GZ, 2010. p. 9-29.
MENEZES, Rachel Aisengart. et al. Notas sobre a experincia de quase-morte:
interpretaes e sentidos. In: COELHO, Maria Claudia; REZENDE, Claudia Barcellos
(Org.). Cultura e sentimentos: ensaios em antropologia das emoes. Rio de Janeiro:
Contracapa, 2011. p. 143-167.
MENEZES, Rachel Aisengart; Gomes, Edlaine de Campos. Seu funeral, sua escolha:
rituais fnebres na contemporaneidade. Revista de Antropologia. So Paulo, USP, v. 54,
n. 1, 2011.
SAID, Edward. Orientalismo: o Oriente como inveno do Ocidente. So Paulo:
Companhia das Letras, 1990.
STRATHERN, Marylin. After nature: English kinship in the late twentieth century.
Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
TORNQUIST, Carmen Susana. Armadilhas da Nova Era: natureza e maternidade no
iderio da humanizao do parto. Revista Estudos Feministas, v. 10, n. 2, jul. 2002.
TORNQUIST, Carmen Susana. Paradoxos da humanizao em uma maternidade no
Brasil. Cadernos de Sade Pblica, v. 19, 2003. Suplemento 2.
TORNQUIST, Carmen Susana. Humanizando nascimentos e partos. Interface,
Botucatu, v. 10, n. 19, jun. 2006.
WALTER, Tony. The revival of death. Londres: Routledge, 1997.
344
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 344 25/07/2013 09:08:58
Sangue do meu sangue
Contrastando as prticas do servio de sade e as lgicas
conjugais em situaes de sorodiscordncia para HIV/aids
Mnica Franch
Artur Perrusi
Voc est com AIDS. Foi com estas palavras que o mundo de Sara1 virou de
ponta-cabea. A notcia lhe foi dada pelo mdico que acompanhava sua ter-
ceira gravidez, a segunda do atual marido. No pequeno municpio onde mora,
situado na regio do agreste paraibano, no h nenhum centro mdico para
tratamento do HIV, e Sara ainda teve que aguardar algum tempo at ser en-
caminhada para um Servio de Ateno Especializada (SAE) em Joo Pessoa.
Esperou, tambm, duas semanas para conversar com o marido, que, na oca-
sio, estava fora do municpio, a trabalho. Duas semanas de angstias e siln-
cios, pois nem com os mais prximos Sara quis compartilhar a terrvel notcia.
Tinha medo do preconceito, disse-nos na entrevista. Logo depois vieram as
consultas, os remdios, os testes. E uma nova surpresa: ela estava com HIV,
mas ele no. Desde ento, conviver com essa diferena, invisvel a olho nu, po-
rm concreta o bastante para provocar uma reviravolta na vida do casal, no
apenas uma tarefa de Sara e de seu marido. Ela envolve outros atores, princi-
palmente o servio de sade especializado no tratamento do HIV/AIDS. Neste
texto, mostraremos de que maneira a sorodiscordncia significada por casais
que vivenciam essa situao, na sua interao cotidiana com esses servios.
Deste modo, buscaremos articular a experincia subjetiva dos sujeitos e os en-
quadramentos normativos propostos pelo servio de sade, partindo da ideia
de que tanto os casais como os servios enfrentam uma situao nova, no
cristalizada e, portanto, fluida e continuamente reescrita.
1 Todos os nomes utilizados neste texto so fictcios.
345
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 345 25/07/2013 09:08:58
mnica franch e artur perrusi
De acordo com a literatura sobre o assunto, entende-se por casal sorodis-
cordante ou sorodiferente2 toda dade em relacionamento afetivo-sexual re-
lativamente estvel (namoro ou casamento), heterossexual ou homossexual,
em que um dos membros reconhecidamente HIV+ e o outro no. (Polejack,
2001; Reis, 2005; Maksud, 2007; Franch; Perrusi, 2011) Embora insufi-
cientemente conhecida, esta modalidade de relacionamento tem aumentado
bastante nas ltimas duas dcadas, devido aos avanos no tratamento da AIDS
e, consequentemente, ao aumento da expectativa de vida das pessoas com HIV.
Se, na dcada de 1980, o diagnstico de HIV configurava uma situao caracte-
rizada como de morte iminente, pondo em cheque a continuidade de relacio-
namentos afetivos e familiares, no sculo XXI j possvel encarar o HIV/AIDS
como uma condio prxima de uma doena crnica ou de longa durao. A
melhora na qualidade e expectativa de vida das pessoas com HIV permite que
elas levem adiante sua vida afetiva, continuem ou construam projetos de for-
mao de famlia, quer com pessoas da mesma sorologia, quer com pessoas de
sorologia distinta. nesse cenrio que o casal sorodiferente adquire relevncia.
O relacionamento afetivo e sexual duradouro entre duas pessoas com so-
rologia distinta para o HIV/AIDS suscita perplexidade e desafia o senso comum,
constituindo, assim, um fenmeno bom para pensar. Isto porque a sorodis-
cordncia pe em xeque valores e sentidos que dizem respeito, de um lado, ao
amor e aos relacionamentos e, de outro, relao sade/doena, mais preci-
samente aos significados sociais da AIDS. De acordo com o iderio do amor
romntico, o encontro amoroso exige a entrega mtua e a diminuio pro-
gressiva das barreiras que vigoram no mundo pblico, confluindo para uma
simbiose em que as individualidades se suavizam ou at mesmo desaparecem
como muito bem condensa o ritual cristo de casamento: Por isso que o ho-
mem deixa o seu pai e sua me para se unir sua mulher; e j no so mais que
uma s carne. A sorodiscordncia, ao vir acompanhada da norma preventiva
do uso do preservativo, traz desafios para a atualizao do ideal fusional ro-
mntico, uma vez que a camisinha simbolizada como uma proteo no em
2 Os termos sorodiscordante e sorodiferente remetem a tradies distintas na literatura sobre o assunto, sendo
o primeiro mais comum na literatura em lngua inglesa, e o segundo, na de lngua francesa. Neste texto, sero
utilizados como equivalentes.
346
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 346 25/07/2013 09:08:58
sangue do meu sangue
relao doena, mas em relao ao outro, percepo para a qual contribui o
fato de o preservativo estar simbolicamente atrelado sexualidade extraconju-
gal, perigosa ou suja.
Por outro lado, a existncia de casais sorodiscordantes revela questes so-
bre a maneira como lidamos com as diferenas, sobretudo no campo da sade.
Segundo Ivia Maksud (2002, p. 14), existe na sociedade brasileira uma des-
valorizao simblica da relao entre pessoas marcadas socialmente como
diferentes. Por isso, o relacionamento entre dois indivduos com HIV percebe-
-se como mais adequado do que aquele entre uma pessoa soropositiva e outra
soronegativa. Nesse sentido, a dupla sorodiscordante aparece como um ca-
sal impossvel, provocando questionamentos a respeito dos motivos pelos
quais o casal permanece junto questionamentos que no so feitos quando
os parceiros partilham a mesma sorologia. No fundo, a desvalorizao do ca-
sal sorodiscordante reflete a rejeio social s pessoas que vivem com HIV. Ao
pressupor a convivncia entre uma pessoa normal e outra com o vrus, a so-
rodiferena dilui a fronteira entre ns/os saudveis e eles/os doentes, fronteira
que demarca o imaginrio social da AIDS enquanto doena dos outros. Como
afirma Daniela Knauth (2002, p. 38), a existncia de casais sorodiscordantes
atesta o fato de que as pessoas infectadas pelo HIV so boas, desejadas, amadas
e queridas e, portanto, no esto completamente excludas, tanto que encon-
tram parceiros. Essa ideia desestabiliza uma das principais metforas relati-
vas AIDS, isto , a da poluio e seus correlatos: promiscuidade, vergonha,
culpa, pecado. (Sontag, 2007)
Do ponto de vista do casal, a sorodiscordncia aparece frequentemente
como um turning point (Hareven, 1991; Franch, 2010) que divide a vida con-
jugal em dois momentos antes e depois do diagnstico , muitas vezes de
forma dramtica. Trata-se de uma situao que impe novas questes aos ca-
sais, que vo desde as dvidas quanto continuidade do relacionamento at a
reconfigurao das prticas sexuais. O medo de morrer, ou o medo de que o par-
ceiro adoea e morra, a incerteza quanto possibilidade de ter filhos saudveis,
o receio do contgio do membro soronegativo, acompanhado frequentemente
por sensaes de impureza pela pessoa com HIV, so questes que adentram
o cotidiano do casal, impondo diversas mudanas no relacionamento afetivo,
s vezes explicitamente negociadas, embora muitas vezes adotadas de modo t-
347
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 347 25/07/2013 09:08:58
mnica franch e artur perrusi
cito. Outra ordem de mudanas diz respeito gesto do segredo pelo casal, en-
volvendo reconfiguraes das redes de apoio, que passam a ser ameaadas pelo
estigma e pelo preconceito. Nessas reconfiguraes, h de se levar em conside-
rao o peso que jogam outros marcadores, como as questes tnicas, de gnero,
de idade e de origem social, tanto entre os casais como dentro do prprio casal.
A situao sorodiscordante no aparece apenas como um processo que diz
respeito ao casal e ao seu contexto social mais prximo. Ela tambm sofre, di-
reta ou indiretamente, a interpelao do servio de sade. Com efeito, os ser-
vios de sade emergem como instncias privilegiadas na tentativa de impor
uma nova normatividade sexual ao casal, norteada pela noo de duplo risco
(Silva; Couto, 2009): o risco da soroconverso do membro soronegativo do
casal, atravs das prticas sexuais desprotegidas, e o risco da transmisso ver-
tical, numa eventual gravidez. Para evitar a atualizao desses riscos, o servio
tenta delimitar novas prticas sexuais, regidas pelas normas da preveno, que
se concretizam na exigncia do uso da camisinha em todas as relaes sexuais.
Tais mudanas podem, entretanto, caminhar na contramo das crenas, valo-
res, gostos e vontades dos usurios do servio. Acontece, assim, uma discre-
pncia entre as injunes do servio de sade e as reaes dos casais.
Diante do imperativo da preveno, o servio espera que o casal implemen-
te uma srie de mudanas comportamentais no seu cotidiano. Mas para que
essas mudanas sejam incorporadas, o casal precisa reconhecer e atribuir ao
servio de sade o saber e o poder de determinar a terapia em relao ao HIV/
AIDS, bem como o poder de ditar as prticas necessrias para prevenir o cont-
gio. O reconhecimento e a atribuio necessitam de uma legitimao do servio
e, tambm, da adeso do casal s suas prescries. Essa imputao de saber e
poder tem consequncias polticas, pois implica a capacidade de transformar
comportamentos que tm por escopo o cotidiano: o espao privado e de inti-
midade do casal durante seu dia a dia. A mudana, assim, envolve uma srie
de procedimentos que visam transformar o comportamento, perfazendo uma
micropoltica do cotidiano. Ao aderir s prescries do servio, o casal torna-se
corresponsvel pela preveno, logo, pelas mudanas de seu comportamento.
Nesse sentido, a micropoltica do cotidiano que surge no contexto da ao
teraputica para o casal sorodiscordante se baseia naquilo que Michel Foucault
(1999) chamou de governo de corpos ou normatizao de prticas em relao
348
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 348 25/07/2013 09:08:58
sangue do meu sangue
ao corpo, isto , uma autorregulao de comportamentos (um governo de si e
para si) a partir de injunes de uma normatividade externa, neste caso espe-
cfico, do servio de sade. Uma vez que esses servios so a porta de entrada
para os diversos direitos e polticas franqueadas aos portadores do HIV (bene-
fcios, passe livre, medicaes, etc.), a adeso norma teraputica recebe um
reforo indireto dessas outras polticas.
Entretanto, o que se observa na prtica que a atribuio de poder e de
legitimidade ao servio no garantia de adoo de suas diretrizes, principal-
mente em relao s prticas sexuais. Como mostraremos mais adiante, os ca-
sais no necessariamente seguem as recomendaes sugeridas pelo servio de
sade. Muitas mudanas no comportamento, principalmente aquelas relacio-
nadas sexualidade conjugal, batem de frente com a organizao afetiva dos
casais, podendo pr em jogo diferenas no terreno da tica e da moral. Nesse
sentido, a micropoltica do cotidiano constantemente atravessada por situ-
aes imponderveis e por questes de valores, que limitam e contextualizam
a abrangncia da ao do servio de sade. Pode-se dizer, deste modo, que as
lgicas conjugais e os ordenamentos morais fixam o alcance da ao terapu-
tica. H de se considerar, ainda, que as polticas institucionais a respeito da
AIDS ainda no esto plenamente fixadas, apresentando uma relativa fluidez.
(Biehl, 2007) Essa situao gera impasses, desencontros e adaptaes entre o
servio e os casais, que constituem o interesse principal deste trabalho.
O texto est dividido em trs partes. Na primeira delas, apresentamos al-
gumas das transformaes que vm ocorrendo no tratamento mdico da AIDS
e como se relacionam com processos sociais, incluindo aqui a sorodiscordn-
cia. Em seguida, apresentamos dados de uma pesquisa qualitativa realizada
em Joo Pessoa, buscando desvendar algumas lgicas e valores que norteiam
a ao dos servios e dos casais. O texto encerra com algumas consideraes,
retornando ao campo das polticas pblicas a partir dos dados analisados.
Aids e sorodiscordncia no campo da sade
Embora se trate de um fenmeno relativamente atual, decorrente do processo
de cronificao da AIDS a sorodiscordncia precisa ser compreendida no cen-
rio da percepo social da doena e do doente surgida com o advento da AIDS.
349
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 349 25/07/2013 09:08:58
mnica franch e artur perrusi
Ao estabelecer ressignificaes no processo sade-doena, a AIDSse inscreve
em transformaes de longo alcance na sociedade moderna, que ultrapassam
os limites das aes teraputicas, envolvendo consideraes a respeito das for-
mas de individualizao dos sujeitos. Na histria da AIDS, misturam-se, reedi-
tados, aspectos que marcaram o imaginrio social de outras patologias. Assim,
ela reatualiza elementos de doenas antigas, como a peste, e radicaliza aspectos
que fazem parte de outros modelos de enfermidades, como a tuberculose e o
cncer. Talvez seja esta radicalizao, principalmente no campo da poltica, a
maior originalidade da AIDS em relao a outras doenas. Como veremos, isso
tem implicaes diretas na forma como o servio interpela o casal sorodiferen-
te, e na reao deste s interpelaes do servio, abrindo espao para ambigui-
dades, adaptaes e reinterpretaes.
Remontando-se dcada de 1980, a histria da AIDS relativamente recente,
emergindo, de forma indita, como uma construo social. Pode-se dizer que a
AIDS surge e se transforma sob nossos olhos. Cria medos e emoes, reatuali-
zando outros mais antigos. Ocupa o espao pblico e exige o reconhecimento
do Estado. Torna evidente a articulao entre o biolgico, o poltico e o social.
Mais ainda: a apropriao cientfica do fenmeno foi e est sendo simultnea
sua captura pela opinio pblica, em particular pela mdia. Nunca antes o jogo
de relaes, muitas vezes conflituoso e ambguo, entre cincia e senso comum,
mediado pela mdia, foi to visvel e explcito. (Herzlich; Pierret, 1988)
Mas seria, justamente, a articulao entre o biolgico, o poltico e o social
que relacionaria a AIDS a uma progressiva singularizao do processo sade-
-doena. A AIDS uma doena moderna e se conecta a alguns modelos de in-
dividualidade tpicos do mundo contemporneo. No causa surpresa a relao
entre AIDS e responsabilizao das pessoas com HIV. Tal relao torna explci-
ta a viso do indivduo como responsvel por sua sade e, consequentemente,
pelo cuidado de si. (Foucault, 2007)
Podemos perceber melhor essa questo ao contrastar a AIDS com a tubercu-
lose e o cncer. Os processos de metaforizao, analisados por Sontag (1984),
alm de relacionar a tuberculose e o cncer a diversas construes simblicas
que estigmatizam o doente, revelam uma mudana no campo imaginrio das
doenas. A novidade o alvo das metforas, que passa a ser o indivduo, figura
inexistente em doenas anteriores, como no modelo da doena-flagelo. Nes-
350
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 350 25/07/2013 09:08:58
sangue do meu sangue
se sentido, pode-se dizer que ocorre uma psicologizao nas representaes
dessas duas doenas. (Laplantine, 2004)
No caso da tuberculose, talvez por ser anterior ao cncer, essa individua-
lizao seja mais ambgua, pois a tuberculose vista, simultaneamente, como
flagelo, quando ataca as classes populares, e como uma doena romntica,
relacionada elite intelectual do final do sculo XIX. No primeiro caso, ela
coletiva, no segundo, individualista. J o cncer, sendo, por excelncia, uma
patologia moderna, uma doena do indivduo. A doena silenciosa de um
doente solitrio: tudo aquilo que ri, corri, corrompe e consome lentamente
e secretamente. (Sontag, 1984, p. 15) O corpo contra o prprio corpo, numa
espcie de vingana autocontida. As metforas so terrveis e desvelam uma
culpa individual: o mal causado pelo modo de vida, pela relao do indivduo
com a sociedade. Trata-se de falhas individualizadas, inclusive psicolgicas. O
cncer o sintoma de uma vida mal vivida.
No caso da AIDS, o aspecto individualista do cncer v-se radicalizado. Sur-
gida como uma peste gay, logo, um flagelo, a AIDSfoi sendo transmutada num
cncer gay, encontrando, enfim, uma metfora individualista. Assim como
ocorre com o cncer, a AIDS responsabiliza o indivduo ordinrio, reativando
neste caso ideias de culpa e pecado, e coloca em cena o doente sujeito de forma
ainda mais aprofundada. No incio da epidemia, a premncia no tratamento
individual do soropositivo se devia tanto a fatores ideolgicos, relacionados
forma individualizante da medicalizao da doena, como, principalmente,
urgncia de uma situao clnica vista como de morte iminente. O hospital
emergia como lcus privilegiado da ao teraputica, onde a autoridade mdi-
ca podia ser exercida de forma absoluta, mesmo num cenrio de poucas cer-
tezas quanto resposta adequada. Com a progressiva cronificao da doena,
ocorreram reconfiguraes simblicas e prticas, abrindo a possibilidade da
responsabilizao ser negociada e no apenas imposta, uma vez que a terapu-
tica se desloca do espao hospitalar para a vida privada das pessoas com HIV.
Paradoxalmente, a cronificao, ao multiplicar a possibilidade de interaes
sociais possveis entre pessoas com HIV e sem HIV, tensiona a abordagem in-
dividual da doena, tenso esta especialmente presente no casal sorodiferente.
A responsabilizao do indivduo no campo da sade possui uma afinida-
de eletiva com as mudanas nas instituies mdicas. O doente responsvel
351
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 351 25/07/2013 09:08:58
mnica franch e artur perrusi
tornou-se usurio de um servio de assistncia em sade. Virou um cidado
com direito e deveres vinculados sua bioidentidade. A medicina, como insti-
tuio pblica, democratizou-se e se transformou numa assistncia de massa
no campo da sade, fazendo parte dos diversos dispositivos de controle da so-
ciedade. Boa parte de tais dispositivos so geridos pela lgica do risco. A AIDS
insere-se nessa srie de transformaes, reconfigurando a lgica do risco e os
espaos de atuao no campo institucional da sade. Nessa reconfigurao, di-
versos atores sociais, principalmente as pessoas que vivem e convivem com o
HIV, constituram um espao pblico indito na histria das doenas. A atu-
ao poltica nesse espao influenciou de sobremaneira a conduta mdica e
as representaes da doena. Podemos perceber esse novo doente/usurio/
sujeito por meio da anlise da gesto do risco.
O portador de HIV visto pelo servio de sade como um indivduo que gere,
de forma racional, os riscos da soropositividade; inclusive, cobrado por isso.
um parceiro da diviso tcnica do trabalho mdico e tambm, por meio das or-
ganizaes da sociedade civil, das polticas pblicas do Estado. Ele torna-se um
sujeito ou incentivado a s-lo, pois precisa conhecer a doena e seu corpo, em
suma, ter cuidado de si. (Mono Ndjana, 2010) A soropositividade e a doena
tornam-se um momento de subjetivao. Ela reconhecida como uma experi-
ncia de vida. Estamos diante de um processo identitrio, baseado num tipo de
reconhecimento social. uma bioidentidade positiva. O usurio tem o direito
de ser tratado, mas agora assume a responsabilidade pela gesto de sua sade.
Contudo, a autonomia do sujeito pode representar um nus. A responsa-
bilizao tem o seu preo. Pode ser interpretada, tambm, como a imposio
de um biopoder. O cuidado de si pode mascarar a imposio de prescries
comportamentais ao usurio, sem considerar seus valores e seu contexto so-
cial. A gesto privada do risco implica, muitas vezes, a aplicao de meios
compulsrios, traduzidos numa lista de bons comportamentos que, geral-
mente, normatizam a preveno e se tornam fator de proteo. Essa prescri-
o sempre externa, e frequentemente de carter coercitivo, baseada numa
polarizao entre um elemento ativo (o mdico ou profissional de sade) e
outro passivo (o paciente, ou seja, a pessoa com HIV/AIDS). A prescrio pre-
ventiva, inevitavelmente, atribui papis sociais ao usurio, muitas vezes de
subalternidade. De todo modo, uma situao complexa e contraditria, at
352
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 352 25/07/2013 09:08:58
sangue do meu sangue
porque a imposio da prescrio combina-se responsabilizao do usurio,
visto como sujeito da gesto do risco. O indivduo o responsvel por sua
sade e, consequentemente, pela adoo de comportamentos preventivos. O
fracasso da preveno individualizado e deslocado para o usurio, que no
foi capaz de assumir para si o modelo de preveno.
A sorodiscordncia introduz novas dinmicas nesse cenrio, j de por si
complexo, ao incorporar um terceiro elemento na relao mdico/paciente:
o cnjuge soronegativo, cuja condio sorolgica impe-se como um limite
ao teraputica afinal, ele no um doente. A relao conjugal, deste
modo, se apresenta como um impondervel que pe em xeque o sucesso da
gesto individual do risco. De que maneira essas dinmicas podem ser obser-
vadas no cotidiano dos casais o que abordaremos a seguir.
Casais no servio: da invisibilidade normatizao
Nossa discusso tem por base os resultados de uma pesquisa qualitativa, reali-
zada nos anos de 2007 a 2010, junto a casais sorodiscordantes para o HIV/AIDS
moradores de Joo Pessoa, ou usurios de servios pblicos de sade localiza-
dos nessa cidade.3 O termo casais sorodiscordantes deve ser entendido como
uma categoria de situao (Bertaux, 1997) que agrega experincias bastante
diversas entre si. As trajetrias dos casais investigados, o tempo de existn-
cia do relacionamento, seu momento ou fase em relao ao ciclo familiar, a
composio etria, a satisfao individual e/ou da dupla com o relacionamento
conjugal so alguns dos aspectos que diferenciam os casais que participaram
desta pesquisa. Ao todo, foram entrevistados 23 casais com sorologia diferente
para o HIV (entrevistas individuais com cada um dos parceiros) e 19 pessoas
vivendo com HIV/AIDS (casos em que no foi possvel entrevistar o parceiro
3 A pesquisa Casais sorodiscordantes no Estado da Paraba: subjetividade, prticas sexuais e negociao de risco
foi desenvolvida pelo Grupo de Pesquisas em Sade, Sociedade e Cultura (Grupessc), da UFPB, com o apoio
da UNESCO e do Ministrio da Sade/Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Os autores deste traba-
lho foram os coordenadores do projeto, que contou tambm com a participao, como pesquisadoras, das
professoras Ftima Arajo (DCS/UFPB) e Luziana Marques da Fonseca Silva (DCS/UFPB Campus IV), e de seis
bolsistas da graduao em Cincias Sociais: tila Andrade, Lindaci Loyola, Arthur Guimares, Luana Santos, Ju-
liana Carneiro e Clareanna Santana. O projeto contou com a consultoria pontual de Ivia Maksud (ISC/UFF) e de
Madiana Rodrigues (PPGAS/UFRN), e tambm com a participao de Edson Peixoto (PPGS/UFPB) na realizao
das entrevistas.
353
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 353 25/07/2013 09:08:58
mnica franch e artur perrusi
soronegativo). Trata-se de casais, em sua maioria, oriundos de grupos popu-
lares e com predomnio de mulheres na situao de membro soropositivo do
par.4 Muitos casais descobriram a sorodiferena depois de estabelecida a con-
vivncia (casais pr-diagnstico), mas tambm foram entrevistados casais
ps-diagnstico, conhecedores da sua diferena sorolgica antes mesmo do
estabelecimento da relao afetiva. Alm da observao direta nos servios
pesquisados e das entrevistas aos casais, foram entrevistados diversos atores
do campo da preveno e do atendimento ao HIV/AIDS, incluindo ativistas e
profissionais de sade, dentro e fora de Joo Pessoa.
Em todos os casos pesquisados, o diagnstico ou o conhecimento da so-
ropositividade, prpria ou do parceiro, um momento vivido em meio a um
intenso sofrimento, constituindo uma crise vital sem precedentes na biografia
dos indivduos um turning point que divide a trajetria individual e, no caso
dos casais pr-diagnstico, a trajetria conjunta em dois momentos diferen-
ciados: antes e depois dessa descoberta. O impacto da revelao da condio
sorolgica no responde, apenas, ao medo do adoecimento e da morte medo
este vinculado s imagens da AIDS como doena mortal e incurvel, oriundas
da dcada de 1980 e primrdios dos anos 1990. Grande parte do impacto emo-
cional deriva dos aspectos morais atrelados AIDS, e que autorizam a conside-
rar essa doena como um exemplo paradigmtico do que Luiz Fernando Dias
Duarte (2003, p. 177) chamou de perturbao fsico-moral: condies, situ-
aes ou eventos de vida considerados irregulares ou anormais pelos sujeitos
sociais e que envolvam ou afetem no apenas sua mais imediata corporalida-
de, mas tambm sua vida moral, seus sentimentos e sua auto-representao.5
Como se sabe, o diagnstico da AIDS gera acusaes diferenciadas por gnero,
jogando sobre as mulheres a pecha da promiscuidade sexual e sobre os homens
o fantasma da homossexualidade. Tratam-se de acusaes que impactam fron-
talmente as bases morais da conjugalidade heterossexual, o que nos habilita
4 Os casais foram contatados atravs de dois servios de sade voltados ao HIV/AIDS em Joo Pessoa o Hos-
pital Clementino Fraga, especializado em doenas infecto-contagiosas, e o Hospital Universitrio Lauro Wan-
derley, onde funciona um Servio de Atendimento Especializado (SAE) materno-infantil e um SAE adulto. Al-
guns casais foram contatados atravs da ONG Misso Nova Esperana, que faz trabalho de apoio a crianas
soropositivas e suas famlias. Isso explica tanto o recorte de classe (usurios dos servios pblicos de sade so
oriundos das classes populares) como o de gnero (foco no materno-infantil em dois servios).
5 Ver, tambm, Duarte (1986).
354
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 354 25/07/2013 09:08:58
sangue do meu sangue
a considerar a sorodiferena como uma perturbao fsico-moral pertinente
ao casal, superando, deste modo, a individualidade fsica da pessoa com HIV.
A sorodiscordncia no afeta apenas aspectos intrnsecos vivncia do ca-
sal, mas tambm a relao deste com o mundo externo. Com efeito, a sorodi-
ferena modifica a composio das redes sociais dos casais, que passam a ser
reconfiguradas a partir do segredo compartilhado pela dupla: a condio so-
rolgica do membro soropositivo do par.6 O estigma associado condio da
doena exige a manipulao da imagem pblica do casal e, consequentemente,
a gesto do segredo a respeito da sorologia gesto esta que enfaticamente
recomendada pelo servio de sade a partir do momento do diagnstico. Assim,
todos os casais pesquisados manifestam um cuidado em definir que pessoas
podero ser ou no depositrias desse segredo. Esse cuidado leva os casais a
estabelecer diversos nveis de relacionamento com terceiros, mediados por
graus diferenciados de confiana. Revelar o segredo a outrem traz inseguran-
a porque a informao pode fugir do controle do casal, gerando preconceito e
isolamento social em torno da dupla. Na prtica, isso implica um estreitamento
das redes anteriores de convivncia, em alguns casos acompanhado da abertura
para novas redes, como grupos de ajuda mtua, ONGs e, no menos importante,
o servio de sade, que passa a ocupar um papel importante entre os que co-
nhecem a nova verdade do casal. Contudo, nem sempre possvel encontrar
abertura para o tipo de demanda que o casal sorodiscordante pode apresentar.
Com efeito, apesar das mudanas na vivncia do HIV/AIDS anteriormente
referidas, o servio de sade continua individualizando o tratamento, perce-
bendo apenas o soropositivo. Cabe, aqui, a ressalva em relao aos espaos com
foco no materno-infantil, como foi o caso do SAE do Hospital Universitrio
Lauro Wanderley, onde recrutamos vrios casais para a pesquisa. Nesse tipo de
servio, a individualizao no evidente, pois a ateno se volta gestante em
sua relao com o beb, visando preveno da transmisso vertical.7 Nesse
movimento, a mulher soropositiva, enquanto indivduo dotado de necessida-
des prprias, sai de foco, voltando todos os esforos para sua funo materna.
6 As questes relativas ao segredo foram melhor desenvolvidas por Franch e Perrusi (2010), e por Arajo e Car-
valho (no prelo).
7 Muito poderia ser escrito quanto viso dos servios em relao mulher soropositiva gestante. Aqui apenas
nos limitaremos a aqueles aspectos diretamente ligados ao objetivo do artigo.
355
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 355 25/07/2013 09:08:58
mnica franch e artur perrusi
A possibilidade de dar luz um filho saudvel apresentada a essas mulheres
como uma escolha responsvel, resultado da adeso teraputica recomenda-
da pelo servio, que inclui um cotidiano de exames e o uso continuado da me-
dicao antirretroviral at o nascimento da criana. Os cuidados prosseguem
aps o parto, sendo a criana monitorada de perto pelo servio at o momento
em que sua condio sorolgica definitiva seja estabelecida. A no adeso a tais
prescries pelas mulheres apresentada como um comportamento desviante,
egosta e irresponsvel, sobre o qual lanada toda sorte de atributos negativos.
A busca pela adeso das gestantes e mes teraputica preventiva vem acompa-
nhada, assim, de um reforo de valores ligados a um exerccio responsvel da
maternidade, calcado no mito do amor materno (Badinter, 1985), que en-
contra forte eco entre mulheres de todas as camadas sociais, incluindo aquelas
dos grupos populares, usurias dos servios pblicos de sade.
Entretanto, a introduo de um lao familiar no servio (me/filho) no
implica necessariamente a visibilidade do lao afetivo-conjugal. Pelo contr-
rio, a nfase no vnculo materno costuma excluir os parceiros das mulheres
atendidas pelo servio, ainda mais quando estes so soronegativos. A lgi-
ca materno-infantil, to presente na ateno bsica, se reproduz claramente
nesse tipo de servio, sendo reforada pelo imperativo mdico da preveno
transmisso vertical. No Hospital Universitrio, mais precisamente, os par-
ceiros das usurias somente ganharam espao quando o servio comeou a
fazer atendimento generalizado para o HIV/AIDS (SAE Adulto), o que atraiu ho-
mens soropositivos para dentro do servio. Indiretamente, a incorporao de
homens vivendo com HIV deu certa visibilidade aos casais soroconcordantes,
pois em algumas ocasies os homens que vinham em busca de atendimento
eram parceiros de mulheres j atendidas pelo servio. J os homens soronega-
tivos, bem como os casais sorodiferentes, continuaram sendo esquecidos; sua
abordagem suprflua num atendimento voltado para a individualidade bio-
lgica do doente. A individualizao do tratamento aparece de forma explcita
neste relato de uma mdica entrevistada, a respeito das mudanas no servio
de SAE materno-infantil para SAE Adulto, no Hospital Universitrio:
Eu acho que mudou pela concepo de que as pessoas que estavam acostumadas
a trabalhar s no SAE, elas no estavam acostumadas a lidar com o universo e
356
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 356 25/07/2013 09:08:58
sangue do meu sangue
a realmente atender e se preocupar, de buscar, embora antes fosse simplesmen-
te pra dar o diagnstico do parceiro. Mas a gente no tinha esse segmento do
acompanhamento. O que nos falta hoje, ainda, uma interveno mais peridica
com o discordante, que no se consegue fazer; na maioria das vezes, porque no
tem o servio. Ele realmente no vem. No momento em que ele se descobre que
soronegativo, no precisa vir. O comparecimento associado condio de
doena (grifo nosso).
Mesmo quando os homens acompanham as esposas ou namoradas ao ser-
vio de sade, raro encontr-los na sala de espera ou circulando pelo servio,
uma vez que eles se sentem duplamente externos quele espao: no so soro-
positivos, em servios voltados para portadores do HIV; e so homens, em servi-
os que atendem preferencialmente mulheres grvidas e com filhos.8 No cotidia-
no do servio, o membro soronegativo masculino pode at aparecer na gravidez,
perfazendo o casal, mas desaparece quando a criana nasce: Alguns que so mais
participativos, particularmente durante a gestao, esses at vm, e a gente tem a
chance de atender, inclusive, at o casal junto no mesmo momento. Mas, normalmen-
te, depois da gravidez, no vm mais (mdica do Hospital Universitrio).
Outros motivos que explicam a invisibilidade do casal sorodiferente ultrapas-
sam a ordem da individualizao do tratamento e revelam o carter fsico-moral
da AIDS, pondo em foco concepes morais a respeito do casamento e dos relacio-
namentos afetivos. As observaes realizadas no servio sugerem a dificuldade,
por parte dos profissionais, de compreender as lgicas afetivas da populao aten-
dida no por acaso, populao pertencente aos segmentos populares. Assim, a
mudana de parceiros foi apontada como justificativa para a no incluso do
membro soronegativo do par no servio, como pode ser visto no trecho a seguir:
H uma mudana muito grande, muito frequente de parceiros; nem sempre a gen-
te est atento pra isso. Assim, muito comum a troca de parceiro, inclusive a gente
tem paciente, por exemplo, que tem cinco gestaes de cinco pais diferentes. Ento,
nem sempre a gente se lembra de fazer esse tipo de interveno. No geral, quando
a paciente quer, a gente registra, mas nem sempre a gente faz. E quando tem uma
mudana de parceiro, a gente tem a misso de convoc-lo pra ser testado, mas est
8 A pouca presena de homens nos servios de sade j foi observada no atendimento bsico, especificamente
no Programa Sade da Famlia (FIGUEREIDO, 2005; FRANCH; LONGHI, 2005), fazendo parte dos debates e dos
desenhos das polticas de sade do homem.
357
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 357 25/07/2013 09:08:58
mnica franch e artur perrusi
subentendido que uma paciente que no permanece muito tempo com o mesmo
parceiro. Assim, essa noo um pouco diluda, diferente de unies mais estveis
em que a gente consegue ter reunies com o parceiro. Agora, no geral, nos discor-
dantes isso se dilui com o tempo. No verbalizamos a preocupao de que ele fique
voltando ao servio. A gente at recomenda o teste, mas no insiste nesse discurso
de que ele precisa voltar ao servio. (mdica do Hospital Universitrio)
Na fala da mdica entrevistada evidenciado o limite da ao teraputica
no que diz respeito aos casais a estabilidade ou o casamento facilita a en-
trada do soronegativo no servio, ficando as outras situaes de fora da rbita
dessa ao. Apenas quando o casal percebido a partir do modelo de conjuga-
lidade monogmica de longa durao possvel promover sua incluso no ser-
vio. Cabe perguntar, contudo, at que ponto a avaliao da estabilidade dos
casais informada por representaes que aliam o HIV/AIDS promiscuidade
sexual, dificultando a visibilidade de relaes do tipo namoro ou casamento
que envolvem pessoas com HIV/AIDS.
Outro aspecto que contribui para a invisibilidade de relacionamentos
instveis no servio diz respeito ao conflito que os profissionais enfrentam
entre a garantia de sigilo do diagnstico e a exigncia de conter o avano
da epidemia, incluindo possveis infetados na rotina orientao-teste-trata-
mento. Na fala acima transcrita, esse dilema foi explicitado pela mdica com
as seguintes palavras: E quando tem uma mudana de parceiro, a gente tem a
misso de convoc-lo pra ser testado, mas est subentendido que uma paciente
que no permanece muito tempo com o mesmo parceiro. Como se v, a exclu-
so das relaes que no se encaixam no modelo normativo pode facilitar a
forma como o servio enfrenta o dilema de no poder revelar, sob nenhuma
circunstncia, o diagnstico de um paciente para terceiros, mesmo naqueles
casos em que h um risco de contgio. Existem formas mais ou menos sutis
de forar uma pessoa com HIV a revelar seu diagnstico ao seu parceiro. Po-
rm, desconhecer a situao conjugal do paciente, ou mesmo minimiz-la
sob a rubrica de relao eventual, suaviza esse conflito para os profissionais
de sade.9 Esse tipo de soluo encontrada pelos profissionais condensa o
9 A questo da obrigatoriedade da revelao do diagnstico est presente nos debates atuais a respeito da
possvel responsabilidade dos soropositivos em relao a seus parceiros sexuais.
358
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 358 25/07/2013 09:08:58
sangue do meu sangue
carter fluido e pouco cristalizado de que as polticas da AIDS se revestem na
seu dimenso cotidiana.
Quando, finalmente, o casal sorodiscordante ganha visibilidade no ser-
vio, a nfase no uso do preservativo em todas as relaes sexuais (injuno
aqui denominada norma preventiva) aparece como a principal interpelao
por parte dos profissionais de sade. Nesses casos, a noo de risco passa a
permear as relaes entre o servio e o casal, notadamente atravs da pessoa
com HIV/AIDS, responsabilizada pela salvaguarda da sade do seu parceiro e,
no caso das mulheres soropositivas, pelo no contgio de sua possvel prole.
A noo de risco utilizada pelo servio de sade ancora-se no cuidado de si
(Foucault, 2007) a autorregulao, fundamentada na autonomia do sujei-
to. Cobra-se dos casais a prtica de aes responsveis que afastem a possi-
bilidade de soroconverso do negativo. O modo como os casais reagem a tais
interpelaes no , contudo, homogneo, evidenciando frequentemente os
limites da prtica teraputica.
Receber informaes sobre os possveis riscos no implica, necessaria-
mente, em uma adoo da conduta preventiva promovida pelo servio. De
fato, o uso da camisinha inscreve-se na complexa negociao do risco no in-
terior casal e com o servio mdico. Nesse sentido, um aspecto que se pode re-
fletir a partir das entrevistas realizadas diz respeito inconstncia da adeso
norma preventiva por parte dos casais. Embora existam poucos casos em que
o preservativo seja explicitamente negado em todas as relaes, percebe-se
que a incorporao desse elemento no acontece nos termos desejveis pelo
servio, com os casis alternando momentos em que a camisinha est presen-
te, e outros em que ela abandonada. Assim, a adeso norma proposta pelo
servio no pode ser entendida como uma escolha definitiva. Ela precisa ser
entendida como um processo, em que vrios aspectos se conjugam, desdo-
brando-se em prticas sexuais mais ou menos protegidas. Essa micropolti-
ca do cotidiano interpretada pelo servio como uma resistncia, uma falta
de informao ou de conscincia por parte dos casais do risco a que esto
submetidos. A anlise das entrevistas realizadas, entretanto, chama a aten-
o para a complexidade envolvida nas escolhas afetivo-sexuais dos casais, na
359
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 359 25/07/2013 09:08:58
mnica franch e artur perrusi
tentativa de fazer sentido de sua sorodiferena e dar continuidade (ou no) aos
seus relacionamentos.10
Um dos aspectos que informam o terreno moral sobre o qual so desenvol-
vidas as prticas sexuais diz respeito ao modo como a diferena sorolgica
significada pelo casal, de forma articulada a outras diferenas presentes na du-
pla. As entrevistas mostram que a condio soropositiva costuma criar hierar-
quias no casal, inferiorizando, com muita frequncia, o membro soropositivo
do par. Isso especialmente percebido nos relacionamentos em que a mulher
soropositiva, nos quais a relao hierrquica pr-existente (de gnero) se v
reforada pela condio sorolgica impura. Deste modo, so relatados sen-
timentos como o medo do abandono e, paradoxalmente, o desejo de que tal
abandono ocorra, outorgando-se ao parceiro negativo a permisso para que
ele procure algum saudvel uma parceira de sangue.
Pesquisadora: E o que representa pra voc viver com algum que tem a sorologia
diferente da sua?
Entrevistada (26 anos, soropositiva casal II): Eu vejo... Eu converso com ele e
digo: No, procure outra pessoa quando estou bem triste v procurar uma
pessoa que seja igual a voc. s vezes eu me sinto um pouco diferente dele, s
vezes. Peo pra que ele procure uma pessoa que seja negativa, que tenha at
uma vida sexual diferente com ele, no use preservativo como comigo, mas
ele diz que no, que pra ele usar preservativo normal; ele no tem aquela: ah,
vou usar porque.... Ele usa. No daqueles que diz: no, preservativo ruim.
Ele no tem essa mentalidade pra dizer isso. A minha vida com ele, pra ele, sexu-
al, no importa, no, mas eu, assim, s vezes me sinto inferior. Mas quando eu
estou meia triste, eu peo pra ele arrumar outra pessoa. Pergunto se ele no quer
arrumar outra pessoa, porque comigo vai ser sempre desse jeito, pois uma hora
vou estar boa, outra hora pode ser que eu esteja doente e ele quem vai ter que
cuidar de mim. Minha famlia mora perto de mim, mas tudo ele. Meus pais
sabem, mas ele quem vai resolver, quem me leva na mdica ou alguma coisa
assim, quem me espera. Esse ms mesmo, eu tive um problema que eu fiquei no
hospital de observao, e ele veio comigo. Mas eu sempre tento passar pra ele
que ele pode arranjar outra pessoa e levar uma vida melhor. Ele diz que no,
10 Chamamos a ateno para o fato de termos includo na pesquisa apenas casais que continuaram juntos aps
a sorodiscordncia ou que se iniciaram j conhecendo esse fato. Isso exclui, obviamente, os casais que
no se mantiveram juntos. Situaes de instabilidade conjugal, anunciando um possvel rompimento, foram
encontradas, de forma explcita, num dos casais entrevistados e numa entrevistada (mulher soropositiva).
360
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 360 25/07/2013 09:08:58
sangue do meu sangue
que no tem nada a ver o meu problema e que a gente vai viver o tempo que Deus
quiser. (grifos nossos)
No trecho acima, aparecem alguns dos elementos mais comuns na infe-
riorizao das mulheres com HIV: o fato de se considerarem doentes e preci-
sarem de cuidado, invertendo sua posio tradicional de cuidadoras; a dvida
(implcita no exemplo acima) quanto possibilidade de gerar filhos saudveis;
a impossibilidade de oferecer aos seus parceiros uma vida sexual normal,
sem a exigncia da camisinha. No que tange a esse ltimo aspecto, tudo leva
a crer que o sexo sem preservativo considerado, por homens e mulheres do
universo entrevistado, como um dos privilgios masculinos advindos com o
casamento abre-se mo (em tese) da possibilidade de ter vrias parceiras para
ganhar em troca a possibilidade de fazer sexo sem proteo, carne com carne,
como foi verbalizado por um de nossos informantes. A interdio dessa possi-
bilidade percebida como uma irregularidade, uma anomalia, inferiorizando
a mulher soropositiva, que se sente, assim, incompleta e em desvantagem
em relao a outras possveis parceiras para seu cnjuge. Assim, embora as
mulheres possam tambm apresentar dificuldades com o uso do preservativo
(incmodo e diminuio do prazer sexual), a reclamao masculina aparece,
nas entrevistas e no cotidiano do servio, como sendo mais legtima ou mais
autorizada, pois est baseada num consenso interno entre os casais a respeito
da forma adequada do relacionamento sexual no marco da conjugalidade.
Nesse sentido, o uso da camisinha visto como uma concesso, dadas as
circunstncias da sorodiscordncia. O preservativo pode se tornar uma fonte
constante de mal-estar para o casal pode ser uma tortura, como relata uma
entrevistada a respeito de seu parceiro:
Entrevistada (soropositiva, 35 anos casal III): Foi difcil pra ele, porque eu j era
mais acostumada [a usar o preservativo]. Mas pra ele foi difcil, porque ele nunca
tinha usado.
Pesquisadora: Ele nunca tinha usado?
Entrevistada: No, porque essa pessoa [refere-se ex-esposa do atual parceiro]
foi a primeira mulher dele, com quem ele viveu 12 anos. Quando ele conheceu, ela
361
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 361 25/07/2013 09:08:58
mnica franch e artur perrusi
j tinha 25, e ele nunca usou camisinha. Pra ele foi uma tortura, porque ter que
usar aquilo ali o tempo que esteja com aquela pessoa... foi difcil pra ele.
Pesquisadora: Foi difcil?
Entrevistada: Foi. Mas ele se acostumou j.
A imagem da tortura relacionada camisinha aparece, sobretudo, entre
os homens de mais idade, que tiveram sua iniciao sexual em tempos pr-
-AIDS (ou com pouco acesso ao discurso pr-camisinha), mostrando que a ade-
so norma preventiva constitui uma tcnica corporal, no sentido dado por
Marcel Mauss (1974, p. 212): as maneiras como os homens, sociedade por so-
ciedade e de maneira tradicional, sabem servir-se de seus corpos. Noo esta
aplicvel, segundo o autor, s diversas tcnicas sexuais: H todas as tcnicas
de atos sexuais normais e anormais. Contatos por sexo, mistura de hlitos, bei-
jos, etc. Aqui, as tcnicas e a moral sexuais esto em ntima relao. (MAUSS,
1974, p. 230) O carter de aprendizado do uso da camisinha ( preciso se acos-
tumar a ela) e seus aspectos morais, que supem, para o casal, a neutralizao
da associao entre a camisinha e o sexo extraconjugal, bem como a aceitao
da perda do benefcio do sexo conjugal, costumam ser minimizados pelas
equipes de sade, que atribuem a no adeso norma por parte dos homens a
uma resistncia de cunho psicolgico ou a uma questo da cultura machis-
ta existente no nordeste. A psicologizao da recusa do preservativo desconsi-
dera uma das reclamaes mais comuns na fala dos entrevistados: a mudana
na qualidade do prazer sexual. Ao interpretar essa queixa como uma resistn-
cia psicolgica, os profissionais de sade minimizam os aspectos fsicos ou
corpreos da relao sexual, enfatizando seu carter mental ou psicolgico,
o que conduz a uma compreenso expressiva e relacional da sexualidade em
detrimento de uma compreenso individualista da mesma, com foco na satis-
fao sexual11 compreenso esta trazida pelos homens em suas reclamaes,
como pode ser observado no trecho abaixo:
11 Ver Heilborn, Cabral e Bozon (2006) para as diferenas entre valoraes individualistas e relacionais da
sexualidade, no caso especfico dos jovens brasileiros.
362
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 362 25/07/2013 09:08:58
sangue do meu sangue
Entrevistado (40 anos, soropositivo casal XVIII): Eu que nunca me adaptei, pra
falar a verdade. Nunca me adaptei. Eu me sinto muito desconfortvel. Porque...
aperta demais, quando termina a relao, o meu rgo est, n, muito inchado.
tanto que hoje o meu contato de ano em ano. uma crise. Essa minha esposa,
que eu estou com ela agora, vai fazer o qu? Acho que um ano de dois meses que eu
no tenho relao com ela.
J as explicaes baseadas no machismo, alm de apresentarem a noo de
cultura como uma fora imutvel e monoltica, causadora de um determinis-
mo cultural, anlogo ao popular determinismo biolgico, se apoiam em dois
pressupostos: que as mulheres sempre querem usar camisinha e que elas no
conseguem negociar12 esse uso junto aos seus maridos. Se, nas prescries usa-
das para estimular a adeso das mulheres s normas para a preveno da trans-
misso vertical, prevalece no servio uma interpelao s mulheres enquanto
indivduos autnomos, responsveis e responsabilizados pelas aes de prote-
o criana; no discurso do machismo, as mulheres aparecem desprovidas
de autonomia, na posio de vtimas submetidas infeco pelo HIV (no caso
de mulheres soronegativas) ou ao contgio de doenas sexualmente transmis-
sveis (no caso de mulheres soropositivas). Em contrapartida, os homens apa-
recem como aqueles que impem sua vontade no relacionamento, vontade esta
ditada por uma tradio irracional e, poderamos arriscar, por uma mentalidade
pr-lgica. Sem negar as diferenas de poder no interior dos relacionamentos
conjugais, a anlise da micropoltica do cotidiano, no que diz respeito adeso
norma preventiva, mostra nuanas que so despercebidas pelos profissionais.
Que a negociao feminina, nos relacionamentos afetivo-conjugais, ultra-
passa em muito a lgica preventiva j foi sugerido por Regina Barbosa (1999).
Nas entrevistas realizadas, encontramos algumas situaes em que homens e
mulheres assumem conscientemente os riscos simblicos e prticos da quebra
da norma preventiva em funo de vrias motivaes. Em alguns casos, o aban-
dono da camisinha ocorre em funo da necessidade de confirmao da relao
em situaes de crise, tendo as mulheres um papel ativo, compartilhado com o
parceiro, no abandono e na retomada do preservativo. Esse o caso deste casal,
12 Negociar , neste caso, um termo nativo, pois j foi incorporado ao discurso dos atores de sade do campo
HIV/AIDS.
363
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 363 25/07/2013 09:08:58
mnica franch e artur perrusi
em que apenas foi possvel entrevistar a esposa, soropositiva. Tratava-se de um
relacionamento conturbado, com frequentes ausncias do marido e posterio-
res reencontros, em que a necessidade de reafirmao do lao conjugal exigia
o abandono da camisinha como prova de amor. Na fala transcrita embaixo,
possvel perceber como o preservativo, no cotidiano dos casais, mais do que
uma barreira fsica contra o HIV uma fronteira com o outro:
Entrevistada (35 anos, soropositiva entrevista individual): Agora, a gente j ficou
vrias vezes sem camisinha. Agora no. Mas quando a gente voltou, que a gente se
separou e que voltou, a gente ficou um bom tempo sem camisinha. Ele: no, no
tem problema no, no sei o qu. Eu no peguei antes, vou pegar agora?. A gente
ficou um bom tempo sem camisinha, mas agora a gente s faz com camisinha.
Pesquisadora: E pra voc, como era isso? De voc transar com ele sem camisinha?
Entrevistada: Eu ficava mais feliz, eu ficava. Eu uso a camisinha assim, mas
quando eu vejo que ele est colocando, assim, por mim, por medo, n?, que
ningum quer, a eu fico triste, s vezes. A eu fico pensando assim, mas rapaz...
[...], isso aconteceu comigo. s vezes, sabia que eu ficava pensando que ele fica-
va comigo sem camisinha porque ele gostava realmente de mim? E ele no tinha
medo? (grifos nossos)
Outra situao comum em que o preservativo posto de lado, e que nuana
as ideias de vulnerabilidade feminina, diz respeito existncia de um projeto
conjugal comum: gerar um filho. Os dois trechos abaixo revelam aspectos das
negociaes ocorridas no interior dos casais e com o servio de sade:
Pesquisador: Mas eu fiquei curioso com uma coisa. Voc disse que tem dois filhos.
Como que ficou a questo da gravidez e dos filhos com essa condio do HIV?
Entrevistado (27 anos, soronegativo casal XV): Rapaz... A gente planejou muito
pra ter um filho.
Pesquisador: Mas como que vocs fizeram? Foram ao mdico pra saber dos ris-
cos? Conta um pouco detalhadamente como que foi essa coisa da gravidez.
Entrevistado: Rapaz, foi normal, eu no vou mentir. Eu vou... na verdade, foi nor-
mal. No usei preservativo nenhum.
Pesquisador: Mas vocs conversaram antecipadamente com o mdico?
364
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 364 25/07/2013 09:08:58
sangue do meu sangue
Entrevistado: No.
Pesquisador: No, n?
Entrevistado: Eu j sabia de todo o risco, j.
Pesquisador: E a vocs fizeram, e depois houve o acompanhamento do pr-natal,
aquela coisa toda?
Entrevistado: Teve. Teve. O acompanhamento todinho da menina e do menino
tambm, at o nascimento, e at hoje fazem.
Pesquisadora: E vocs, mesmo depois de saber que ele no tinha pegado, vocs
decidiram ter outro filho?
Entrevistada (26 anos, soropositiva casal II): Foi. A gente deixou de usar a ca-
misinha pra ter o segundo filho.
Pesquisadora: Mesmo sabendo que ele podia se contaminar?
Entrevistada: Sim. Mesmo sabendo que ele podia se contaminar.
Pesquisadora: E ele aceitou?
Entrevistada: Foi. Aceitou.
Pesquisadora: E quis o segundo filho?
Entrevistada: Sim, foi.
Pesquisadora: E j fez o teste e deu negativo, n?
Entrevistada: Deu negativo.
Pesquisadora: Imunidade alta, n?
Entrevistada: . Mas a gente tem muito cuidado agora, porque fiz laqueadura
tambm, a at pelo resultado dos meus exames, passei a ter muito cuidado agora.
A carga viral no est to bem como eu tinha antes. Ento, a gente tem muito
cuidado, que por mais...
Pesquisadora: Agora vocs usam?
Entrevistada: Sim, agora sim. Sempre.
365
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 365 25/07/2013 09:08:58
mnica franch e artur perrusi
Em ambos os casos, so os homens, e no as mulheres, que se percebem
em risco (eu j sabia de todo o risco), mas aceitam essa situao em funo
do projeto parental. Embora as entrevistas facilitem racionalizaes a poste-
riori, os trechos acima chamam a ateno para o carter de escolha da quebra
da norma preventiva (a gente planejou muito), sugerindo que o no uso da
camisinha no resultado de um desleixo, ou da imposio da vontade de uma
das partes, mas sim uma deciso conjunta (e, poderamos acrescentar, para es-
tabelecer o dilogo com o discurso do servio, racional e consciente), am-
parada nos valores da dupla conjugal.
Um aspecto que chama a ateno nesse processo a autonomia dos ca-
sais que resolvem ter filhos em relao ao servio de sade. Isso foi observado,
inclusive, entre os usurios do SAE do Hospital Universitrio, instituio que
sustenta um discurso oficial de oferta de orientao aos casais que querem en-
gravidar (PINHO, 2011). Essa excluso um dado a ser refletido, sugerindo a
predominncia da norma preventiva (que no contempla o projeto reproduti-
vo) no servio, inibindo outras possveis demandas dos casais.13 Mesmo quan-
do existe uma conversa sobre reproduo entre casal e servio, pode-se encon-
trar espao para decises autnomas, que subvertem as orientaes dadas. No
exemplo abaixo, em que a mulher soropositiva, o casal recebeu orientao
para realizar uma inseminao caseira, que consiste em inserir no canal vagi-
nal da mulher o contedo da camisinha depois da ejaculao do parceiro. Mas
no foi esse o procedimento seguido:
Pesquisadora: E como foi essa coisa? Voc contou pra ele logo [que era HIV+], ou... ?
Entrevistada (25 anos, soropositiva entrevista individual): Bom, na primeira se-
mana eu no contei, no. Mas na primeira semana eu me preveni. Porque eu acho
que no seria justo fazer com outra pessoa o que fizeram comigo [contraiu AIDS do
ex-marido]. A eu contei pra ele. A ele falou que no tinha nenhum problema, que
ele no tinha preconceito com nada. A ele falava que a nica coisa que ele ia
ficar triste era porque ele no ia poder ter um filho. Que era o sonho dele. A ele
foi comigo na infectologista l fazer o tratamento, a ela disse que a gente poderia,
sim, ter um filho. Ela explicou, a... S que, quando a gente fizemos o filho no fize-
13 Andrea Rossi (2011), em recente pesquisa nacional sobre a acolhida dos servios de sade aos projetos
reprodutivos de casais sorodiferentes e soroconcordantes, concluiu que, com raras excees, existe uma
estratgia de desmotivao dos casais, que fere frontalmente os direitos reprodutivos dessa populao.
366
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 366 25/07/2013 09:08:58
sangue do meu sangue
mos do jeito que era pra ser... A gente fez [normal]... [e no] como disseram no hos-
pital... [risos envergonhados] Pra a gente se prevenir. Eu fiquei com medo e disse:
v logo fazer seu exame logo pra saber se voc pegou. A ele fez, ele fez o primeiro, o
segundo e o terceiro. A deu negativo. No caso, foi um milagre, n? (grifos nossos)
A opo pelo no acompanhamento do processo de engravidar pelo ser-
vio parece se ligar, deste modo, a uma valorizao do sexo normal, sem ca-
misinha, no momento em que se procura uma gravidez, levando o parceiro
soronegativo a assumir voluntariamente o risco do contgio. Quando so os
homens que assumem esse risco, caem por terra as teses da vulnerabilidade
de gnero. A interpretao complementar, que defende que os homens no se
sentem, devido ao seu machismo, vulnerveis s doenas, desvaloriza o ele-
mento racional ou consciente da aceitao do risco por parte deles. Tais
interpretaes ganham um novo sentido quando consideramos a importncia
social e simblica de um filho para esses casais. Um filho consolida o projeto
conjugal e d continuidade individualidade dos seus genitores (Fonseca,
1995). A excluso da camisinha no momento especial de fazer um filho reor-
dena simbolicamente o casal, afastando dele o elemento perturbador da con-
jugalidade, que lembra a diferena sorolgica entre os componentes da dupla
e sua excepcionalidade em relao a outros casais.
Outro elemento que se depreende da anlise das situaes de gravidez aci-
ma descritas diz respeito manipulao das informaes tcnicas por parte
dos casais entrevistados. Como disse a entrevistada de um dos trechos trans-
critos anteriormente, passei a ter muito cuidado agora. A carga viral no est to
bem como eu tinha antes. Avaliaes semelhantes foram encontradas em outros
casais que no procuravam uma gravidez, sugerindo que existe, entre alguns
deles, um maior uso de camisinha quando a carga viral aumenta, e uma dimi-
nuio nos momentos em que ela permanece indetectvel ou muito baixa.14
A norma preventiva, no cotidiano conjugal, se torna, assim, mais complexa,
14 A entrevistada anteriormente citada (35 anos, soropositiva entrevista individual), que lamentou a
reintroduo da camisinha na relao, um bom exemplo do uso da manipulao dessas informaes:
quando fiquei meio adoentada, a eu vim pra c [refere-se ao SAE] e comecei o tratamento de novo, e eu decidi
que a gente tinha que voltar a usar a camisinha. Porque eu disse assim a ele: Oh, [nome do parceiro], vamos voltar
a usar a camisinha, porque a minha imunidade deu muito baixa, a carga viral deu no sei quanto de vrus, j, n?,
e a minha imunidade deu muito baixa, ento [...], vamos parar com isso e vamos voltar a usar camisinha. E foi a
que voltei a usar camisinha.
367
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 367 25/07/2013 09:08:59
mnica franch e artur perrusi
nuanada, menos determinada por uma nica tcnica (a camisinha sempre),
acrescentando novas possibilidades no limiar entre preveno e exposio.
Cabe destacar que o modo como as informaes tcnicas circulam entre o
casal e o servio um exemplo elucidativo de como a AIDS, apesar dos controles,
se constitui como um campo aberto a experimentaes, no apenas em termos
biomdicos, mas tambm de prticas sociais. Existe um discurso normativo, por
parte do servio, que insiste no uso da camisinha como nico mtodo possvel
de preveno. Por outro lado, circulam informaes, entre os profissionais de
sade e os usurios do servio, a respeito da diminuio dos riscos em situaes
de controle da carga viral, associada ao uso da medicao. Embora essa no seja
uma orientao explcita do servio, essa circulao de informaes constitui
uma brecha para a apropriao por parte da populao desse tipo de conheci-
mento, de modo a flexibilizar a norma preventiva e encontrar solues mais vi-
veis, do ponto de vista das lgicas conjugais, para conviver com a sorodiferena.
A recente divulgao dos resultados do estudo internacional chamado HTPN
052,15 que sugerem que a medicao antirretroviral diminui significativamente
a chance de transmisso do vrus, pode resultar, a mdio prazo, numa nova nor-
ma preventiva, mais prxima s estratgias espontneas encontradas pela po-
pulao. Contudo, o que podemos sugerir, a ttulo de hiptese, que uma nova
norma exigiria uma mudana na relao entre o servio e os casais, ainda no
observvel no horizonte atual das prticas teraputicas, com a possibilidade de
um dilogo a respeito das escolhas preventivas que hoje ocorre muito pouco,
apesar da diversidade de solues encontradas pela populao.
Consideraes finais
Nos limites deste texto, tentamos mostrar como a sorodiferena emerge como
uma situao particularmente reveladora dos alcances e limites dos processos
de individualizao atrelados teraputica da AIDS. Fizemos isso dando n-
fase s negociaes, implcitas e explcitas, ocorridas no interior dos casais e
15 Dados sobre o estudo comearam a ser divulgados na imprensa brasileira e tambm esto disponveis em:
<http://www.hptn. org/web%20documents/AnnualMeeting2011/PresentationsHPTN/02HPTN052MCohen
OK.pdf>
368
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 368 25/07/2013 09:08:59
sangue do meu sangue
entre estes e o servio de sade. Num primeiro momento, observamos como a
individualizao do atendimento responsvel pela no incluso do parceiro
soronegativo no cotidiano do servio, excluso esta baseada numa representa-
o da doena como um fenmeno encerrado na individualidade corporal do
soropositivo. Contudo, uma breve anlise da teraputica adotada nos casos de
transmisso vertical mostrou o carter paradoxal dessa individualizao em
relao s mulheres gestantes e mes: elas so interpeladas enquanto sujeitos
responsveis, parceiros do servio na preveno da transmisso ao filho, mas
invisveis no que diz respeito s suas necessidades individuais.
J com a incluso dos casais no escopo do atendimento, as questes relati-
vas individualizao ganham novas feies, mostrando os limites desse mo-
delo. Foi possvel observar que o servio de sade, embora no consiga dar res-
posta s novas demandas que a sorodiferena introduz no cotidiano conjugal,
considerado pelos casais a instncia legtima para a definio de uma terapu-
tica relativa ao manejo do vrus. Contudo, isso no implica uma adeso irres-
trita s injunes do servio, situao que fica particularmente clara quando se
analisa a norma preventiva do uso da camisinha. Do ponto de vista do servio, a
insistncia na norma preventiva sugere a dificuldade de negociao de alterna-
tivas preventivas junto aos casais, ou seja, o limite na considerao do usurio
e seu parceiro enquanto sujeitos autnomos, parceiros na teraputica da AIDS.
O servio de sade aborda, de uma forma unidimensional, o risco de contgio
que corre o casal sorodiscordante, utilizando um raciocnio implcito do tipo
ou/ou ou o casal se previne, ou no se previne. Da que a camisinha seja exi-
gida em toda prtica sexual e o casal seja interpelado constantemente para se
enquadrar nesse esquema binrio de preveno. A interpelao do servio pre-
cisa, assim, ser sempre enftica; por isso, h uma nfase constante no perigo
da contaminao. Esse mtodo elimina do campo preventivo toda uma srie de
aes que esto nos interstcios entre a preveno e a exposio ao contgio, e
que constituem o terreno habitual das decises dos entrevistados. O casal, nes-
se sentido, sofre uma interpelao e no propriamente uma persuaso, que se
transmuta, em termos de desejo do servio, em vigilncia e controle.
Do ponto de vista dos casais, tais interpelaes precisam fazer sentido
num cotidiano permeado por valoraes morais e necessidades diversas e
contingentes. A ideia de uma micropoltica do cotidiano, como esfera em que
369
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 369 25/07/2013 09:08:59
mnica franch e artur perrusi
ocorrem adaptaes, resistncias e reinterpretaes norma teraputica, nos
pareceu adequada para expressar os processos de escolha (nem sempre expli-
citados) que envolvem as decises preventivas dos casais. Tais decises no se
ancoram num entendimento individualizado da doena, e sim numa compre-
enso mais prxima da ideia de perturbao fsico-moral, ficando a diferena
sorolgica do casal intimamente atrelada a outros elementos da organizao
afetiva conjugal. Nesse sentido, os casais sorodiscordantes reagem gesto
mdica do risco a partir de um lugar moralmente situado, o que pode acarretar
uma maior ou menor aceitao da mudana de comportamento determinada
pelos servios de sade. Questes de cunho religioso, diversas vises de rela-
cionamento amoroso, relacionadas com atribuies de gnero, o momento na
trajetria do casal, atuam como possveis filtros que balizam comportamentos
sociais.16 A dinmica conjugal, principalmente, com seus movimentos de rup-
tura, ajuste e reafirmao do relacionamento, impe contextos mutantes em
que so inscritas as decises preventivas.
Deste modo, possvel afirmar que os casais, diferentemente do servio de
sade, no percebem o risco de forma unidimensional. Existe o conhecimento
e, nesse sentido, a conscincia do risco, mas a percepo da preveno vista
de uma forma diferente da do servio mdico. O casal toma como referncia
uma hierarquia de prioridades que, muitas vezes, no coloca o contgio como
o problema central da sua vida amorosa. Assim, relativiza-se a preveno, or-
denando-a como uma sequncia de procedimentos que organiza as possibili-
dades de contgio. A cautela depende de fatores diversos e de circunstncias
que no podem ser controladas, de forma eficiente, pelo servio mdico. Esse
dado consistente com a literatura sobre o assunto, que chama a ateno para
o englobamento da sorodiscordncia pelas dinmicas mais gerais da conjuga-
lidade. (Maksud, 2002) Dito de outro modo, o casal , antes de tudo, um casal,
e a condio sorolgica pode no aparecer como o aspecto definidor da relao
no seu dia a dia.
16 No foi possvel, nos limites deste trabalho, arrolar todas as circunstncias encontradas como contextos para
a no adeso norma preventiva, e que incluem tambm racionalizaes de cunho religioso (a AIDS como
um castigo relativo a um comportamento pregresso, logo no sendo possvel uma nova contaminao) e a
banalizao da doena (perda do medo da AIDS, devido sua transformao em doena de longa durao).
370
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 370 25/07/2013 09:08:59
sangue do meu sangue
Nesse sentido, acreditamos que uma perspectiva de sade pblica mais sin-
tonizada com a realidade de vida dos casais dever sair da interpelao (ou/ou)
para ouvir o casal e, deste modo, ajud-lo em sua busca de possibilidades para
conviver com sua diferena. O modelo hierrquico de preveno do HIV/AIDS
para diferentes tipos de prticas sexuais pode ser uma abordagem til. (Raxa-
ch, 2011) Dessa perspectiva, cabe a cada pessoa e casal decidir individualmente
que tipo de riscos est disposto a correr em suas relaes conjugais. A ao do
servio consiste em compreender at onde vai a negociao possvel e promover
o dilogo. Neste tipo de teraputica, o servio de sade perde seu saber/poder ab-
soluto, mas, em contrapartida, se abre para uma pluralidade de experincias que
ficavam ocultas sob a falsa aparncia de obedincia a todo custo. Cabe salientar,
contudo, que existem riscos, desta vez para o servio, nessa atitude: a possibili-
dade de serem legalmente responsabilizados pelo eventual contgio de um so-
ronegativo. Uma perspectiva mais afeita reduo de danos no campo da AIDS
precisa, assim, encontrar eco em novos acordos ticos e jurdicos que permitam
uma prtica mais acorde com os anseios da populao assistida. As descobertas
que comeam a ser divulgadas, a partir da pesquisa HTPN 052, sugerem que es-
sas mudanas podem j estar a caminho.
Referncias
BADINTER, E. Um amor conquistado: o mito do amor materno. 5.ed. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 1985.
BARBOSA, R. M. . Negociao sexual ou sexo negociado? Poder, gnero e sexualidade
em tempos de Aids. In: ________. ; PARKER, R. G. (Org.). Sexualidade pelo avesso: direitos,
identidades e poder. So Paulo: Editora 34, 1999, p. 73-88.
BARBOSA, R. M.; PARKER, R. (Org.) Sexualidades pelo avesso: direitos, identidades e
poder. So Paulo: Editora 34, 1999.
BERTAUX, D. Les rcits de vie. Paris: Nathan, 1997.
BOZON, M. A nova normatividade das condutas sexuais ou a dificuldade de dar
coerncia s experincias ntimas. In: HEILBORN, Maria Luiza (Org.). Famlia e
sexualidade. Rio de Janeiro: Editora FGV, p. 119-153, 2004.
CASTIEL, L. D. Vivendo entre exposies e agravos: a teoria da relatividade do risco.
Histria, Cincias, Sade-Manguinhos, v. 3, n. 2, p. 237-264. 1996.
371
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 371 25/07/2013 09:08:59
mnica franch e artur perrusi
DUARTE, L. F. D. Da vida nervosa (nas classes trabalhadoras urbanas). Jorge Zahar
Editor; CNPq, Rio de Janeiro, 1986.
________. Indivduo e pessoa na experincia da sade e da doena. Cincia & Sade
Coletiva, v. 8, n. 1, p. 173-183, 2003.
FIGUEIREDO, W. Assistncia sade dos homens: um desafio para os servios de
ateno primria. Cincia e Sade Coletiva, v. 10, n. 1, p. 105-109,2005.
FONSECA, C. Caminhos da adoo. So Paulo: Cortez, 1995
FOUCAULT, M. Em defesa da sociedade. So Paulo: Martins Fontes, 1999.
________. Histria da sexualidade III: o cuidado de si. 9. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2007.
________. Microfsica do poder. 25. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2008.
FRANCH, M. Trs histrias tempo, juventude e gnero em contextos de excluso
social. In: SOUZA, Mrcio Ferreira (Org). Desigualdade de gnero no Brasil: novas ideias
e prticas antigas. Belo Horizonte: Argumentum, 2010.
________; PERRUSI, A. A sorodiscordncia em Joo Pessoa: conjugalidade e atendimento
aos casais. In: FRANCH, M. et al. (Org.). Novas abordagens para casais sorodiferentes.
Joo Pessoa: Manufatura, 2011, p. 51-69.
GAGNON, J. H. Uma interpretao do desejo: ensaios sobre o estudo da sexualidade.
Rio de Janeiro: Garamond, 2006.
GOFFMAN, E. A representao do eu na vida cotidiana. 4. ed. Petrpolis: Vozes, 1985.
HAREVEN, T. Synchronizing individual time, family time, and historical time.
In: BENDER, J.; WELLBERY, D. E. Chronotypes. The construction of time. Stanford,
California: Stanford University Press, 1991.
HEILBORN, M. L.; CABRAL, C. S.; BOZON, M. Valores sobre sexualidade e elenco de
prticas: tenses entre modernizao diferencial e lgicas tradicionais. In: HEILBORN,
M. L. et al. (Org.). O aprendizado da sexualidade. Rio de Janeiro: Garamond e Fiocruz,
2006.
KNAUTH, D. O vrus procurado e o vrus adquirido, Estudos Feministas, v. 5, n. 2, 1997.
________. A sorodiscordncia: questes conceituais e projetos em andamento
comentrios. In: MAKSUD, I et al. (Org.). Conjugalidade e AIDS: a questo da
sorodiscordncia e os servios de sade. Rio de Janeiro: Associao Brasileira
Interdisciplinar de AIDS, 2002, p. 37-41.
LANGLOIS, E. Lpreuve du sida: pour une sociologie Du sujet fragile. Rennes: Presse
Universitaires de Rennes, 2006.
LAPLANTINE, F. Antropologia da Doena. So Paulo: Martin Fontes, 2004.
MAKSUD, I. Casais com sorologias distintas para o HIV: questes iniciais para debate.
In: ________. Conjugalidade e AIDS: a questo da sorodiscordncia e os servios de sade.
Rio de Janeiro: Associao Brasileira Interdisciplinar de AIDS, 2002a, p. 11-20.
372
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 372 25/07/2013 09:08:59
sangue do meu sangue
________. Relacionamentos conjugais em tempos de AIDS: aspectos relativos
sorodiscordncia. In: SANTOS, T. F. (Org.). Sade sexual e reprodutiva: uma abordagem
multidisciplinar. Recife: Fundao Joaquim Nabuco; Editora Massangana, 2002b.
________. Em torno da heterossexualidade: notas sobre mdia e relacionamentos
sorodiscordantes. In: UZIEL, A. P. ; RIOS, L. F.; PARKER, R. (Org.). Construes da
sexualidade: gnero, identidade e comportamento em tempos de AIDS. Rio de Janeiro:
Pallas: Programa em Gnero e Sexualidade IMS/EURJ e ABIA, 2004.
________. Casais sorodiscordantes: conjugalidade, prticas sexuais e HIV/Aids. 2007. Tese
(Doutorado em Sade Coletiva), UERJ, Rio de Janeiro, 2007.
________.; TERTO Jr., V. ; PIMENTA, M. C.; PARKER, R. (Org.). Conjugalidade e AIDS:
a questo da sorodiscordncia e os servios de sade. Rio de Janeiro: Associao
Brasileira Interdisciplinar de AIDS, 2002.
MAUSS, M. As tcnicas corporais. In: ________. Sociologia e antropologia. So Paulo: EPU/
EDUSP, 1974, p. 211-233.
PARKER, R.; GALVO, J. Quebrando o silncio: mulheres e AIDS no Brasil. Rio de Janeiro:
ABIA/IMS-UERJ/Editora Relume-Dumar, 1995.
NETO, Otvio Soares de Pinho. O SAE do Hospital Universitrio Lauro Wanderley:
relato de uma experincia pioneira. In: FRANCH, M. et al. (Org.). Novas abordagens
para casais sorodiferentes. Joo Pessoa: Manufatura, 2011.
POLEJACK, L. Convivendo com a diferena: dinmica relacional de casais
sorodiscordantes para HIV/AIDS. 2001. Dissertao (Mestrado em Psicologia Clnica) -
Instituto de Psicologia, Universidade de Braslia, Braslia, DF, 2001.
POLLAK, M. Os homossexuais e a AIDS. So Paulo: Estao Liberdade, 1988.
RAXACH, Juan Carlos. Modelo hierrquico de preveno do HIV/Aids para diferentes
tipos de prticas sexuais. In: FRANCH, M. et al. (Org.). Novas abordagens para casais
sorodiferentes. Joo Pessoa: Manufatura, 2011.
REIS, R. K.; GIR, E. Dificuldades enfrentadas pelos parceiros sorodiscordantes ao HIV
na manuteno do sexo seguro. Revista Latino-americana de Enfermagem, v. 13, n. 1, p.
32-7, jan./fev. 2005.
ROSSI, Andrea da Silveira. Planejamento da reproduo entre casais sorodiscordantes.
In: FRANCH, M. et al. (Org.). Novas abordagens para casais sorodiferentes. Joo
Pessoa: Manufatura, 2011.
SILVA, Neide Korokawa; COUTO, Mrcia Thereza. Sorodiscordncia para o HIV
e deciso de ter filhos: entre risco e estigma social. In: HEILBORN, Maria Luiza;
AQUINO, Estela Maria Leo de; BERQU, Elza Salvatori. Sexualidade, reproduo e
sade. Rio de Janeiro: Editora FGV, p. 75-96, 2009.
SINGLY, F. Sociologia da famlia contempornea. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.
373
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 373 25/07/2013 09:08:59
mnica franch e artur perrusi
SONTAG, S. A doena como metfora. A Aids e suas metforas. So Paulo: Companhia
das Letras, 2007.
TURNER, V. O processo ritual. Petrpolis: Vozes, 1974.
374
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 374 25/07/2013 09:08:59
Sobre os autores
ANNETTE LEIBING. Professor Titular na Faculdade de Enfermagem da
Universit de Montral. Faz parte dos Grupos de Pesquisa MEOS (Le
medicament comme objet sociale) e do CREGES (Centre dexcellence et
dexpertise en grontologie sociale).
ARNAUD HALLOY. Matre de Confrence em Etnologia pela Universit de
Nice Sophia Antipolis, Laboratoire dAnthropologie et de Sociologie Mmoire,
Identit et Cognition sociale (LASMIC, E.A. 3179).
ARTUR PERRUSI. Doutorado em Sociologia pelo PPGS/UFPB. Professor do
Programa de Ps-graduao em Sociologia da Universidade Federal da Paraba.
BERTRAND HELL. Professor Titular de Etnologia na Universit de Franche-
Comt. Membro titular do Centre dEtudes Interdisciplinaires des Faits
Religieux (cole des Hautes tudes en Sciences Sociales).
CARLOS CAROSO. Ph.D. em Antropologia pela University of California, Los
Angeles. Professor Associado do Departamento de Antropologia e do Programa
de Ps-graduao em Antropologia da UFBA, pesquisador do CNPq.
CLAUDIA BARCELLOS REZENDE. Doutorado em Antropologia pela
London School of Economics and Political Sciences. Professor Adjunto no
Departamento de Cincias Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
FTIMA TAVARES. Doutorado em Cincias Humanas (Antropologia) pela UFRJ.
Professor do Departamento de Antropologia e do Programa de Ps-graduao
em Antropologia da UFBA, pesquisadora do CNPq.
FRANCESCA BASSI. Ph.D. em Antropologia pela Universit de Montral.
Bolsista PRODOC/CAPES de ps-doutorado no Programa de Ps-graduao em
Antropologia da UFBA.
FRANOIS LAPLANTINE. Professor Emrito da Universit Lyon 2 Lumire.
MARCELO CAMURA. Doutorado em Antropologia Social (PPGSA-MN-UFRJ).
Professor Associado da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Programa
de Ps-graduao em Cincia da Religio e Programa de Ps-graduao em
Cincias Sociais.
MICHAEL HOUSEMAN. Directeur dtudes na cole Pratique de Hautes tudes,
seo de Cincias Religiosas ( EPHE Vme section). Diretor do laboratrio
Sistemas de pensamento na frica negra (UMR 8048 da EPHE e do CNRS).
Membro da equipe de Ivry CEMAF (Centre dtudes des Mondes Africains).
375
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 375 25/07/2013 09:08:59
sobre os autores
MNICA FRANCH. Doutorado em Antropologia pelo PPGSA/UFRJ. Professor Adjunto
do Programa de Ps-graduao em Antropologia, do Departamento de Cincias
Sociais e do Programa de Ps-graduao em Sociologia da Universidade Federal da
Paraba. Atualmente, vice-coordenadora do PPGA/UFPB.
OCTAVIO BONET. Doutorado em Antropologia Social (PPGSA-MN-UFRJ). Professor
Adjunto do Departamento de Antropologia Cultural e do Programa de Ps-graduao
em Sociologia e Antropologia do IFCS/UFRJ. Pesquisador do CNPq.
RACHEL AISENGART MENEZES. Mdica e antroploga. Doutorado em Sade Coletiva
(Instituto de Medicina Social da UERJ). Professor Adjunto do Instituto de Estudos em
Sade Coletiva da UFRJ (IESC/UFRJ).
SNIA WEIDMER MALUF. Doutorado em Antropologia (cole des Hautes tudes en
Sciences Sociales). Professor Associado da Universidade Federal de Santa Catarina,
docente do PPGAS/UFSC e do PPGICH/UFSC e pesquisadora do CNPq.
XAVIER VATIN. Etnomusiclogo, Doutorado em Antropologia Social e Etnologia
(EHESS), Professor Adjunto de Antropologia na UFRB e no Programa de Ps-graduao
em Antropologia da UFBA. Pesquisador Associado no CNRS (Paris).
376
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 376 25/07/2013 09:08:59
colofo
Formato 16 x 24 cm
Tipologia Prelo e Milo Serif
Papel Alcalino 75g/m (miolo)
Carto Triplex 300 g/m2 (capa)
Impresso EDUFBA (miolo)
Cian Grfica (capa e acabamento)
Tiragem 400 exemplares
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 377 25/07/2013 09:08:59
para_alem_da_eficacia_simbolica_MIOLO.indb 378 25/07/2013 09:08:59
Francesca Bassi
Ftima Tavares
Salvador), bem como os diversos padres No momento o leitor tem em suas mos
interpretativos da terapia e da cura, da Para alm da eficcia simblica, organizado
msica e do transe, e das experincias pelas acadmicas Ftima Tavares e Francesca
religiosas observadas em diferentes agncias Bassi, que tem tudo para se consolidar
teraputico-religiosas, tomadas como como uma leitura obrigatria para os
simbolicamente eficazes ou culturalmente Este livro nasceu entre inquietaes e conversas que interessados, antroplogos ou no, nos
sensveis. provavelmente so partilhadas pelos pesquisadores estudos conceituais sobre o ritual, a religio
especializados em temas tradicionais da antropologia, e a sade. Com forte fundamentao
J na parte final, Teraputicas em contexto,
como rituais, religies e prticas curativas, no qual o conceito etnolgica, esta obra apresenta uma
o volume passa a explorar algumas
de eficcia simblica comparece na grande maioria dos contribuio propositiva relevante sobre as
questes transversais ao tema, como a
eficcia simblica
trabalhos como uma espcie de denominador comum diversas articulaes que tais conceitos, to
teoria das emoes, a interpretao do
para compreenso das transformaes relatadas nesses densos e complexos, implicam para a teoria
envelhecimento, o significado da sade
contextos. possvel descrever atravs de categorias antropolgica, incorporando ao debate,
mental e da morte, vistos em diversos
adequadas as experincias rituais, religiosas e/ou teraputicas
eficcia simblica
contextos etnogrficos, como o de um grupo
que mobilizam agenciamentos eficazes, ou seja, que
estudos em ritual, religio e sade ademais, uma forte inscrio etnogrfica.
de gestantes, de pessoas na terceira idade ou Vale-se, portanto, de contribuies vrias,
no envolvem representaes sobre coisas (eficcias
mesmo de pacientes com sorodiscordncia de requintados pesquisadores nacionais
simblicas), mas transformaes corporais importantes?
para HIV/AIDS. (Ftima Tavares, Snia Weidner Maluf,
Em consonncia com estes questionamentos e em busca de
Octavio Bonet, Carlos Caroso, Marcelo
Trata-se, portanto, de uma obra incomum e possveis caminhos para os problemas que so colocados,
Camura, Claudia Barcellos Rezende,
destacvel, e que, seguramente, vai alicerar esta coletnea tem como proposta disponibilizar para
Rachel Aisengart Menezes) e internacionais
algumas bases importantes dos estudos discusso, segundo abordagens terico-metodolgicas e
(Francesca Bassi, Michael Houseman,
antropolgicos sobre o simbolismo e a dados empricos variados, diversos paradigmas da eficcia
Franois Laplantine, Arnaud Halloy,
religio, e suas relaes com as prticas em mbito ritual, religioso e teraputico que contribuam
Bertrand Hell, Carlo Castaldi, Xavier Vatin,
teraputicas em mltiplas e diferentes para a problematizao de totalidades ou dualismos
Annette Leibing, Mnica Franch e Artur
perspectivas culturais. convencionalizados como representao e ao,
smbolos e prticas, indivduo e contexto. Ftima Tavares Perrusi), que conformam alentado volume,
Cludio Pereira Francesca Bassi sistematicamente dividido em trs partes.
Antroplogo/UFBA Em Revisitando conceitos, so tecidas
consideraes sobre o sofisticado conceito
de eficcia simblica, ou seja, a relao
mais profunda que existe entre smbolos
e crenas. Aqui, exposto um conjunto de
dilemas tericos e desafios etnogrficos,
na medida em que, tambm, se prope
um modelo antropolgico para a prtica
teraputica.
Na parte seguinte, Ritual e transformao
eficaz, so observados os diferentes
dispositivos do transe religioso (aqui
observados em face de alguns cultos como
o Xang do Recife, o Tromba em Mayotte,
os Eguns em Itaparica, o Candombl em
para_alem_da_eficacia_simbolica_CAPA.indd 1 25/07/2013 08:42:29
Você também pode gostar
- Espiritualidade e Saúde: Fundamentos e Práticas em Perspectiva Luso-brasileiraNo EverandEspiritualidade e Saúde: Fundamentos e Práticas em Perspectiva Luso-brasileiraAinda não há avaliações
- IPOG OPC Slide AVALIACAO OPC Alunos PDFDocumento69 páginasIPOG OPC Slide AVALIACAO OPC Alunos PDFMichely100% (1)
- Programacao Ebook CAPACITO APROVADODocumento20 páginasProgramacao Ebook CAPACITO APROVADOIvy Pimenta DiasAinda não há avaliações
- A psicologia no cuidado do sofrimento humano: novas perspectivas de atuaçãoNo EverandA psicologia no cuidado do sofrimento humano: novas perspectivas de atuaçãoAinda não há avaliações
- Caderno de Atividades Oficina Das Emoções SetembroDocumento6 páginasCaderno de Atividades Oficina Das Emoções SetembroJulia SilveiraAinda não há avaliações
- Livro Scorsolini-Comin, F., Souza, L. V., Barroso, S. M. Praticas em PsicologiaDocumento297 páginasLivro Scorsolini-Comin, F., Souza, L. V., Barroso, S. M. Praticas em PsicologiaLauraVilelaSouza100% (1)
- Sobre o Modo de Existencia Dos ColetivosDocumento23 páginasSobre o Modo de Existencia Dos ColetivosKauã VasconcelosAinda não há avaliações
- Transexualismo e Travestismo A Partir Da Perspectiva Da PsicanáliseDocumento16 páginasTransexualismo e Travestismo A Partir Da Perspectiva Da PsicanáliseClarice TulioAinda não há avaliações
- Cap 6 Mecanismo de Formação Dos SintomasDocumento21 páginasCap 6 Mecanismo de Formação Dos SintomasAlexsandro LopesAinda não há avaliações
- As Homosexualidades Na Psicanálise - Luciana Ribeiro MarquesDocumento18 páginasAs Homosexualidades Na Psicanálise - Luciana Ribeiro MarquesRodrigo da MiriamAinda não há avaliações
- Disfagia em IdosoDocumento4 páginasDisfagia em IdosoEduardo AndradeAinda não há avaliações
- Personagens Psicopáticos No PalcoDocumento8 páginasPersonagens Psicopáticos No PalcoCaroline MarzaniAinda não há avaliações
- A Cisgeneridade em QuestaoDocumento7 páginasA Cisgeneridade em QuestaowanderleyemidioAinda não há avaliações
- Individuação SimondonDocumento12 páginasIndividuação SimondonCarolCarolinaAinda não há avaliações
- PDF - Gêneros e Corpos em Debate Nas Artes - 02-05-2023Documento315 páginasPDF - Gêneros e Corpos em Debate Nas Artes - 02-05-2023venisemeloAinda não há avaliações
- BONET, Octavio & TAVARES, Fátima - O Cuidado Como MetáforaDocumento17 páginasBONET, Octavio & TAVARES, Fátima - O Cuidado Como Metáforaoctbon100% (1)
- Usos e Abusos Da Categoria de GeneroDocumento11 páginasUsos e Abusos Da Categoria de GeneroJacqueline MáscoliAinda não há avaliações
- O Método Teacch® e Suas TécnicasDocumento17 páginasO Método Teacch® e Suas TécnicasbergsonmarquesAinda não há avaliações
- Tempo Social JuventudeDocumento390 páginasTempo Social JuventudeTobias100% (1)
- Reich e SpinozaDocumento230 páginasReich e SpinozaAndré WerneckAinda não há avaliações
- FOUCAULT, M. Uma Entrevista - Sexo, Poder e A Politica de IdentidadeDocumento18 páginasFOUCAULT, M. Uma Entrevista - Sexo, Poder e A Politica de IdentidadeMaria Eduarda ChecaAinda não há avaliações
- Cultura Emotiva, Estilos de Vida e Individualidade PDFDocumento6 páginasCultura Emotiva, Estilos de Vida e Individualidade PDFJainara OliveiraAinda não há avaliações
- Teorizar, Repetir e Patologizar (2020)Documento22 páginasTeorizar, Repetir e Patologizar (2020)Clara CatarinaAinda não há avaliações
- Objeto A-PsicanáliseDocumento118 páginasObjeto A-PsicanáliseLidiane CristinaAinda não há avaliações
- Antropologia - Ciência Do Homem (Religião, Rituais e Mitos) - Mércio Pereira GomesDocumento11 páginasAntropologia - Ciência Do Homem (Religião, Rituais e Mitos) - Mércio Pereira GomesAgrício AlmeidaAinda não há avaliações
- Sentir A Dança - Ebook-1Documento358 páginasSentir A Dança - Ebook-1Felipe_Rodrigu_2752Ainda não há avaliações
- A Po-Ética Na Clínica ContemporâneaDocumento2 páginasA Po-Ética Na Clínica ContemporâneaVagner AméricoAinda não há avaliações
- Laplantine e Representações Da DoençaDocumento11 páginasLaplantine e Representações Da DoençaJoana Silva100% (1)
- Livro Queering. Problematizacoes e Insurgencias Na Psicologia Contemporanea (Versao Publicada) - LibreDocumento318 páginasLivro Queering. Problematizacoes e Insurgencias Na Psicologia Contemporanea (Versao Publicada) - LibreRoberta Stubs100% (1)
- 1985 - Microfísica Dos Poderes e Micropolítica Dos Desejos.Documento8 páginas1985 - Microfísica Dos Poderes e Micropolítica Dos Desejos.desassossego44Ainda não há avaliações
- Apostila Sexualidade Gênero e Identidade Oficial PDFDocumento16 páginasApostila Sexualidade Gênero e Identidade Oficial PDFMhyrnaAinda não há avaliações
- As Múltiplas Concepções Da CulturaDocumento4 páginasAs Múltiplas Concepções Da CulturaKarina AcostaAinda não há avaliações
- Considerações em Torno Do Conceito de EstereotipoDocumento15 páginasConsiderações em Torno Do Conceito de EstereotipoPaulo RodriguesAinda não há avaliações
- Aracruz Credo - 40anos de Violacao e Resistencia No ESDocumento202 páginasAracruz Credo - 40anos de Violacao e Resistencia No ESguileresende100% (3)
- Uma Reflexao Sobre A PerversãoDocumento5 páginasUma Reflexao Sobre A Perversãoolavo1Ainda não há avaliações
- Martucelli - EntrevistaDocumento21 páginasMartucelli - EntrevistaAle_8702Ainda não há avaliações
- Livro Metodologia e Investigac3a7c3b5es No Campo Da Exclusc3a3o Social 02Documento282 páginasLivro Metodologia e Investigac3a7c3b5es No Campo Da Exclusc3a3o Social 02Julio GuedesAinda não há avaliações
- O Uso Dos Prazeres - FoucaultDocumento11 páginasO Uso Dos Prazeres - FoucaultSirlene M. P. SilaAinda não há avaliações
- Resenha CurrículoDocumento6 páginasResenha CurrículoHugo VieiraAinda não há avaliações
- O Trabalho Do SS Saúde Mental - Conceição RobainaDocumento13 páginasO Trabalho Do SS Saúde Mental - Conceição RobainaJosinês RabeloAinda não há avaliações
- RBSE v.14 n.41 Ago2015Documento175 páginasRBSE v.14 n.41 Ago2015Marco J. Martínez MorenoAinda não há avaliações
- Sobre Estudos de Masculinidades No BrasilDocumento24 páginasSobre Estudos de Masculinidades No BrasilEduardo Souza100% (1)
- 2 Teoria Antropológica Clássica SidneiDocumento4 páginas2 Teoria Antropológica Clássica SidneithadeuAinda não há avaliações
- 2007tese de Doutorado de Simone Ribeiro GarciaDocumento281 páginas2007tese de Doutorado de Simone Ribeiro Garciajorge henrique duarteAinda não há avaliações
- Relacoes de Genero e Escutas ClinicasDocumento1 páginaRelacoes de Genero e Escutas ClinicasAna Carolina MauricioAinda não há avaliações
- Livro - Família, Gênero e Memória - FinalDocumento521 páginasLivro - Família, Gênero e Memória - FinalYasmin BorgesAinda não há avaliações
- Estrutura e Sujeito em Durkheim, Marx e Weber. Carlos A. T. MagalhãesDocumento17 páginasEstrutura e Sujeito em Durkheim, Marx e Weber. Carlos A. T. MagalhãesProfessor Pablo100% (1)
- Florestan Fernandes e A Universidade Brasileira PDFDocumento9 páginasFlorestan Fernandes e A Universidade Brasileira PDFanacla22Ainda não há avaliações
- Natureza e Revolução A Nova Antropologia de Herbert MarcuseDocumento13 páginasNatureza e Revolução A Nova Antropologia de Herbert Marcusejohn heberAinda não há avaliações
- ALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de - Escrever Como Fogo Que Consome - Reflexões em Torno Do Papel Da Escrita Nos Estudos de GêneroDocumento15 páginasALBUQUERQUE JUNIOR, Durval Muniz de - Escrever Como Fogo Que Consome - Reflexões em Torno Do Papel Da Escrita Nos Estudos de GêneroJurema Silva AraújoAinda não há avaliações
- AdlP U III Fonseca - Classe - e - A - Recusa - Etnografica - 2006 - 1 - PDFDocumento21 páginasAdlP U III Fonseca - Classe - e - A - Recusa - Etnografica - 2006 - 1 - PDFDaniel Pedrito SaraviaAinda não há avaliações
- O Ocaso Da Interioridade e Suas Repercussões Sobre A ClínicaDocumento8 páginasO Ocaso Da Interioridade e Suas Repercussões Sobre A ClínicarojonataliaAinda não há avaliações
- O Segredo (Georg Simmel)Documento8 páginasO Segredo (Georg Simmel)Gabriel Barbosa100% (1)
- Individualismo - Dumont - Genese IIDocumento4 páginasIndividualismo - Dumont - Genese IIGabriela FeldensAinda não há avaliações
- Strathern, Marilyn. A Antropologia e o Advento Da Fertilização in Vitro No Reino Unido. Uma História CurtaDocumento47 páginasStrathern, Marilyn. A Antropologia e o Advento Da Fertilização in Vitro No Reino Unido. Uma História CurtaBianca AlfanoAinda não há avaliações
- A Psicanálise É Cisnormativa - Pedro Ambra PDFDocumento20 páginasA Psicanálise É Cisnormativa - Pedro Ambra PDFGrê GreiceAinda não há avaliações
- Olhares Antropológicos Sobre A Família Contemporânea, 2002Documento16 páginasOlhares Antropológicos Sobre A Família Contemporânea, 2002Bárbara AltivoAinda não há avaliações
- PLENITUDE E CARÊNCIA - A Dialética Do Fragmento PDFDocumento17 páginasPLENITUDE E CARÊNCIA - A Dialética Do Fragmento PDFAlexCosta1972Ainda não há avaliações
- ESCOSSIA, KASTRUP. O Conceito de Coletivo Como Superação Da Dicotomia Individui-SociedadeDocumento10 páginasESCOSSIA, KASTRUP. O Conceito de Coletivo Como Superação Da Dicotomia Individui-SociedadeVeronica GurgelAinda não há avaliações
- A Filosofia e A Crise PDFDocumento12 páginasA Filosofia e A Crise PDFRogerio MonteiroAinda não há avaliações
- Fichamento de CsordasDocumento4 páginasFichamento de CsordasÂnderson BarbosaAinda não há avaliações
- Capítulo I (1) - Versão ProvisóriaDocumento41 páginasCapítulo I (1) - Versão ProvisóriaimpressaosofiaAinda não há avaliações
- PICS Do - Espirito - Na - Saude - Oferta - e - Uso - de - PICSDocumento257 páginasPICS Do - Espirito - Na - Saude - Oferta - e - Uso - de - PICSpaula.ritterAinda não há avaliações
- Iurd AntropologiaDocumento32 páginasIurd AntropologiaJucimario SilvaAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento28 páginas1 PBPpeuAinda não há avaliações
- Thomas Csordas CuraDocumento3 páginasThomas Csordas CuraDavid BrandãoAinda não há avaliações
- Fádia Queiroz Vianna - Atividade 7Documento3 páginasFádia Queiroz Vianna - Atividade 7Fádia QueirozAinda não há avaliações
- BiogeografiaDocumento16 páginasBiogeografiaCastiano Floriano100% (1)
- Edital Monitoria Bruna Brito 2021Documento3 páginasEdital Monitoria Bruna Brito 2021LenderKillerAinda não há avaliações
- O Professor Fora de S Rie PDFDocumento96 páginasO Professor Fora de S Rie PDFDavi PoklenAinda não há avaliações
- Valores Éticos Na Intervenção SocialDocumento7 páginasValores Éticos Na Intervenção SocialramiromarquesAinda não há avaliações
- Meira e Silva (2021) - Potencial Educativo Do Geopatrimônio Do Parque Nacional de UbajaraDocumento13 páginasMeira e Silva (2021) - Potencial Educativo Do Geopatrimônio Do Parque Nacional de UbajaraSuedio MeiraAinda não há avaliações
- A Arte Como Historiografia Do Sofrimento: Reflexões Acerca Da Arte Como Conhecimento Crítico Da Sociedade - Elementos Da Participação Subjetiva No Processo de Criação Artístico em Theodor W. AdornoDocumento129 páginasA Arte Como Historiografia Do Sofrimento: Reflexões Acerca Da Arte Como Conhecimento Crítico Da Sociedade - Elementos Da Participação Subjetiva No Processo de Criação Artístico em Theodor W. AdornoDenilson da Mata DaherAinda não há avaliações
- Projeto Semana Da ÁguaDocumento2 páginasProjeto Semana Da ÁguaTaíza Fernanda RamalhaisAinda não há avaliações
- 2016 Administração ParticipativaDocumento22 páginas2016 Administração ParticipativaBenildeAinda não há avaliações
- Habilidades Prioritárias Ciências - Anos IniciaisDocumento22 páginasHabilidades Prioritárias Ciências - Anos IniciaisrmdsAinda não há avaliações
- Darsand, O Ato de AvaliarDocumento11 páginasDarsand, O Ato de AvaliarFlávio SantiagoAinda não há avaliações
- Projeto Funcional KidsDocumento4 páginasProjeto Funcional Kidsms67335Ainda não há avaliações
- Cenários e Modalidades EAD: Avaliação de PesquisaDocumento1 páginaCenários e Modalidades EAD: Avaliação de PesquisaClaudiomiro Batista de Melo juniorAinda não há avaliações
- UNIP - Universidade Paulista - DisciplinaOnline - Sistemas de Conteúdo Online para Alunos 4Documento18 páginasUNIP - Universidade Paulista - DisciplinaOnline - Sistemas de Conteúdo Online para Alunos 4MasomaAinda não há avaliações
- Apontamentos de Geometria-1Documento13 páginasApontamentos de Geometria-1MariaJoséFreitasAinda não há avaliações
- Registo de Avaliaã Ã o 21-22Documento6 páginasRegisto de Avaliaã Ã o 21-22cristinacardoso977Ainda não há avaliações
- Psicologia Do Trabalho 5Documento41 páginasPsicologia Do Trabalho 5Caca AquinoAinda não há avaliações
- Quick English - ApresentaçãoDocumento14 páginasQuick English - ApresentaçãoVinicius HastenreiterAinda não há avaliações
- Analise Da Escola de Atenas-RaphaelDocumento25 páginasAnalise Da Escola de Atenas-RaphaelManoel Gomes Rabelo FIlhoAinda não há avaliações
- O Abandono de Crianças Ou A Negação Do Óbvio1Documento21 páginasO Abandono de Crianças Ou A Negação Do Óbvio1Carlos da Costa de JesusAinda não há avaliações
- As Reformas Educacionais de Benjamim ConstantDocumento234 páginasAs Reformas Educacionais de Benjamim ConstantPâmela CameloAinda não há avaliações
- Transformando Criancas em CampeoesDocumento28 páginasTransformando Criancas em CampeoesMariana De Carvalho Mendes Jesus100% (1)
- AlexaDocumento11 páginasAlexaMachisso Montgomery SilvérioAinda não há avaliações
- Observe As Figuras Representadas Na Malha Quadriculada AbaixoDocumento17 páginasObserve As Figuras Representadas Na Malha Quadriculada Abaixocassio.vargasAinda não há avaliações