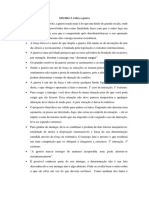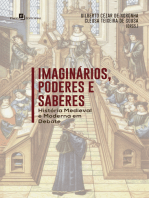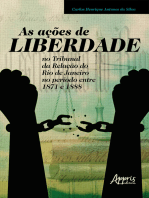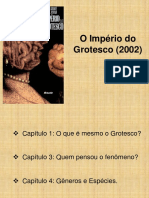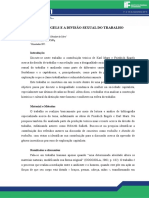Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
2005 - o Direito Luso Brasileiro No Antigo Regime PDF
2005 - o Direito Luso Brasileiro No Antigo Regime PDF
Enviado por
Mara NascimentoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
2005 - o Direito Luso Brasileiro No Antigo Regime PDF
2005 - o Direito Luso Brasileiro No Antigo Regime PDF
Enviado por
Mara NascimentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DIREITO LUSO-BRASILEIRO
NO ANTIGO RÉGIME
livro_antonio_m_espanha.p65 1 11/11/2005, 03:02
livro_antonio_m_espanha.p65 2 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
DIREITO LUSO-BRASILEIRO
NO ANTIGO RÉGIME
F U N D A Ç Ã O
BOITEUX
Florianópolis
2005
livro_antonio_m_espanha.p65 3 11/11/2005, 03:02
© António Manuel Hespanha
© da presente edição: Fundação José Arthur Boiteux (2005)
Ficha Catalográfica
B197h Balthazar, Ubaldo Cesar
História do Tributo no Brasil / Ubaldo Cesar Balthazar.
– Florianópolis : Fundação Boiteux, 2005.
200p.
Inclui bibliografia.
ISBN: 85-87995-49-9
1. Direito tributário – Brasil – História. 2. Constituições – Brasil.
3. Impostos – Legislação. I. Título.
CDU: 34:336.2
Catalogação na publicação por: Onélia Silva Guimarães CRB-14/071
EDITORA FUNDAÇÃO BOITEUX
Presidente Prof. Orides Mezzaroba
Vice-Presidente Prof. Mário Lange de S. Thiago
Secretário Prof. Aires José Rover
Tesoureiro Prof. Ubaldo Cesar Balthazar
Orador Prof. Luiz Otávio Pimentel
Conselho Editorial Prof. Aires José Rover
Prof. Antonio Carlos Wolkmer
Prof. Arno Dal Ri Júnior
Prof. José Rubens Morato Leite
Prof. Mário Lange de S. Thiago
Prof. Orides Mezzaroba
Prof. Luis Carlos Cancellier de Olivo
Prof. Luiz Otávio Pimentel
COLEÇÃO “ARQUEOLOGIA JURÍDICA”
Cátedra Aberta da Fondazione Cassamarca
Sob a direção de Arno Dal Ri Júnior
Diagramação Studio S Diagramação & Arte Visual
(48) 3025-3070 – studios@studios.com.br
Capa Fernando C. Santos Jr.
sobre ilustração do pintor flamengo Van Rojmers-waelen
Revisão Ana Lúcia Pereira do Amaral
Endereço UFSC – CCJ – 1.º andar – Sala 110
Campus Universitário Trindade
CEP 88040-900 Florianópolis, SC, Brasil
Telefone: (48) 331-9655 / Fax: (48) 233-0390
E-mail: livros@ccj.ufsc.br
Site: www.funjab.ufsc.br
livro_antonio_m_espanha.p65 4 11/11/2005, 03:02
SUMÁRIO
PREFÁCIO - À PRESENTE EDIÇÃO BRASILEIRA ................................... 7
PARTE I
Introdução ........................................................................................................ 17
1. Evolução recente da história institucional e política ........................... 17
2. Linhas de força da história institucional ................................................ 21
3. Este manual ................................................................................................. 23
PARTE II - O IMAGINÁRIO DA SOCIEDADE E DO PODER
1. A sociedade .................................................................................................. 29
2. As pessoas .................................................................................................... 41
3. As coisas e as situações reais no direito de Antigo Regime ................ 69
PARTE III - O DIREITO
1. O Direito ..................................................................................................... 109
PARTE IV - OS PODERES
1. A Família .................................................................................................... 149
2. A Igreja ....................................................................................................... 187
3. As comunidades ........................................................................................ 249
4. Os senhorios .............................................................................................. 281
5. A coroa ........................................................................................................ 339
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .......................................................... 475
livro_antonio_m_espanha.p65 5 11/11/2005, 03:02
livro_antonio_m_espanha.p65 6 11/11/2005, 03:02
PREFÁCIO
À PRESENTE EDIÇÃO BRASILEIRA
A edição original deste livro data de há dez anos e, basi-
camente, reporta-se apenas ao “direito do reino”. Ambos os factos
constituem limitações que o leitor deve ter muito em conta.
Não estou, por outro lado, em condições de listar, aqui,
as contribuições novas para a história institucional do Anti-
go Regime português. Em todo o caso, gostaria de ousar – cá
de longe e com o diminuto acesso que conhecemos a infor-
mações actualizadas sobre a historiografia de uns e outros –
acrescentar umas notas bibliográficas principais, também
para literatura brasileira.
Começo pelos fundamentos interpretativos. Passaram
por duas décadas de prova, pois, de facto, nasceram – então
como marginal e arriscada hipótese – com o meu livro (e tese
de doutoramento – As vésperas do Leviathan [...], de 1976. O
livro foi objecto de recensões 1 e foi tido em conta e analisado
1 Ius commune, 1990, 433-435 (R. Rowland); The Journal of Modern History,
63.4(1991) 801-802 (B. Clavero); The American Historical Review, 97.1(1992)
221-222 (C. A. Hanson); The journal of modern history, 67.(1995) 758-759 (Julius
Kirchner); Latin American Review, 31.1(1996) 113-134; Ann. Econ. Soc. Civ.,
46.2(1991) N° 2 (mars-avril) 1991, 502-505 (J. F. Schaub).
2 Jean-Frédéric Schaub, “La penisola iberica nei secoli XVI e XVII: la questione dello
Stato”, Studi Storici, anno 36, gennaio-marzo 1995; Id., “ L’histoire politique
sans I’état: mutations et reformulations”, Historia a debate, III, Santiago de
livro_antonio_m_espanha.p65 7 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
em textos de contexto mais vasto 2 . Paolo Grossi publicou,
entretanto, o seu livro de descrição global da ordem jurídica
medieval, que, apesar de algum tom róseo, esclareceu a
arquitectura geral desse sistema de poder 3 . Entretanto, uma
análise político-jurídica centrada na dispersão do poder foi
ganhando espaços, culminando por ser aplicada … mesmo à
França 4 . Naturalmente, os espaços coloniais não ficaram de
fora desta tendência para destacar a periferização do poder,
eles que constituíam, justamente, as periferias mais periféri-
cas. Esse é o sentido mais forte do texto que publiquei no
livro dirigido por João Fragoso, Maria Fernanda Bicalho e
Maria de Fátima Gouvêa, O Antigo Regime nos Trópicos. A
dinâmica imperial portuguesa (sécs. XVI-XVIII), Rio de Janei-
ro, Civilização Brasileira, 2001 5 . A própria produção teórica
brasileira já abordara o tema, nomeadamente nos livros de
Compostela, 1993, 217-235; Id., “Le temps et l’État: vers un nouveau régime
historiographique de l’ancien régime français”, Quad. fior. st. pens. giur. mod.,
25(1996) 127-182 Angelo Torre, “Percorsi della pratica. 1966-1995”, Studi storici,
1995, 799-829 (mais crítico); Roberto Bizzochi, “Storia debile, storia forte”,
Storia, 1996, 93-114
3 Paolo Grossi, L’ordine giuridico mediovavle, Bari, Laterza, 1995.
4 Jean-Frédéric Schaub, La France espagnole: Les racines hispaniques de l’absolutisme
français, Paris, Seuil, 2003.
5 Cf. A. M. Hespanha, “A constituição do Império português. Revisão de alguns
enviesamentos correntes”), 163-187; nesse volume, ainda, interessantes contri-
buições para uma nova história da administração colonial brasileira: Maria
Hebe Mattos, “A escravidão moderna nos quadros do império português: o
Antigo Regime em perspectiva Atlântica”, 141-161; Maria Fernanda Bicalho,
“As câmaras e o governo do Imperio”, 189-221; Maria de Fátima Gouvêa,
“Poder político e administração na afirmação do complexo atlântico portugu-
ês (1645-1809)”, 285-316; cf., também, sobre o tema, Pedro Cardim, “O gover-
no e a administracão do Brasil sob os Habsburgo e os primeiros Bragança”,
Hispania. Revista del Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Madrid, vol.
LXIV/i, no 216 (Enero-Abril 2004) pp. 117-156.
livro_antonio_m_espanha.p65 8 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
António Carlos Wolkmer 6 . A que eu juntaria, pelo paren-
tesco entre direito periférico e direito informal, o estimulante
estudo de Keith S. Rosenn, The Jeito: Brazil’s Institutional Bypass
of the Formal Legal System and Its Developmental Implications7 .
Nas descrições mais gerais da história do direito, desta-
co que saíram, entretanto, duas novas sínteses muito apreci-
áveis: em Portugal, uma nova edição, aumentada, de Nuno
Espinosa Gomes da Silva 8 ; e, no Brasil, o livro de José
Reinaldo de Lima Lopes, O direito na história. Lições introdu-
tórias 9 . Ao passo que, na história da administração colonial
brasileira, aparecem novidades como os trabalhos de Airton
L. Seeländer, Cerqueira-Leite 10 , o livro de Arno Wehling e
Maria José Wehling, Direito e Justiça no Brasil Colonial: o Tri-
bunal da Relação do Rio de Janeiro (1751-1808) 11 , o número
monográfico dirigido por Maria Fernanda Bicalho (ed.), “Po-
6 WOLKMER, A. C. Pluralismo Jurídico: Fundamentos de uma Nova Cultura
do Direito. São Paulo, Alfa-Ômega, 1994; WOLKMER, Antonio Carlos.
Pluralidade Jurídica na América Luso-Hispânica “in” WOLKMER, Antonio
Carlos (org.) Direito e Justiça na América Indígena: Da Conquista à Colonização.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998. p. 75/93.
7 Em The American Journal of Comparative Law, Vol. 19, No. 3 (Summer, 1971), pp.
514-549; entretanto traduzido para português, no Brasil.
8 Nuno Espinosa Gomes da Silva, História do direito português, 3ª ed. revista e
actualizada, Lisboa, Fundação Gulbenkian, 2000;
9 S. Paulo, Max Limonad, 2000.
1 0 Polizei, Ökonomie und Gesetzgebungslehre, Frankfurt am Main, Vittorio
Klostermann, 2003; Airton Seelander,. „A polícia e o rei-legislador: notas sobre
algumas tendências da legislação portuguesa no antigo regime”, em Bittar, Eduar-
do C. (org). História do direito brasileiro: leituras da ordem jurídica nacional, São
Paulo: Atlas, 2003 (uma colectânea significativa do “estado da arte” no Brasil..
1 1 Renovar, 2004; cf. ainda Arno Wehling e Maria José Wehling, Cultura jurídica
e julgados do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro: a lei da Boa Razão, in
Maria Beatriz Nizza da Silva, Cultura portuguesa na Terra de Santa Cruz, Lisboa,
Estampa, 1995.
livro_antonio_m_espanha.p65 9 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
lítica e administração no mundo luso-brasileiro”, em Tempo,
7.14(2003), com artigos dos principais nomes no ramo; o li-
vro de Laura Mello e Souza, Norma e Conflito: Aspectos da
História de Minas no Século XVIII 12 e as actas de um congresso
recente, organizado por Istvan Jancsó 13 . A não esquecer, o belo
trabalho de Alberto Gallo, sobre uma especificidade do regi-
me prático dos ofícios na colónia 14 .
No domínio da história da terra, destaco os trabalhos
de Márcia Motta, Nas Fronteiras do Poder. Conflito e Direito à
Terra no Brasil do Século XIX 15
; Lígia Osório Silva, Terras
devolutas e latifúndio. Efeitos da lei de 1850 16 , e Ricardo Mar-
celo Fonseca, “A lei de terras e o advento da propriedade
moderna no Brasil” 17 .
O mundo doméstico tem, no Brasil, uma referência in-
dispensável, correspondendo à de Otto Brunner para a histó-
ria do universo doméstico europeu: Gilberto Freyre. É uma
personalidade intelectual e política controversa – talvez mais
em Portugal do que no Brasil, pelo modo como se deixou com-
prometer com a última fase do colonialismo português; mas,
no conjunto, é fascinante e de um indubitável para a compre-
ensão do mundo de Antigo Regime e dos seus prolongamen-
1 2 Belo Horizonte, UFMG, 1999.
1 3 Istvan Jancsó (org.), Brasil: formação do Estado e da Nação, S.Paulo, Hucitec, 2003.
1 4 “La venalidad de oficios publicos en Brasil durante el siglo XVIII”, em Marco
Bellingeri, Dinamicas de Antiguo Régimen y orden constitucional [...],Torino, Otto
Editore, 2000.
1 5 Rio de Janeiro, Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro/Vício de Leitura, 1998.
1 6 Campinas, UNICAMP, 1998.
1 7 Em Anuário mexicano de historia del derecho, México: Vol. XVII, 2005, págs. 97/112.
10
livro_antonio_m_espanha.p65 10 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
tos quase até aos nossos dias 18 . Por isso, muitos dos autores
leitores de Freyre dizem muito sobre esta sociedade perdida.
À parte estes, ultimamente, este mundo das sociabilidades
domésticas e, ao mesmo tempo, eclesiais, é abordado por Laura
de Mello e Souza, em Inferno Atlântico: demonologia e coloniza-
ção, séculos XVI-XVII 19 ; enquanto que à escravatura nos ofe-
receram interessantes estudos com elementos para a história
do direito, entre outros Alfredo Bosi, Dialética da Colonização 20 ;
Hebe Maria de Castro Mattos, com o colorido livro Das Cores
do Silêncio: os significados da liberdade no sudeste escravista –
Brasil séc. XIX 21
; Id., Escravidão e Cidadania no Brasil
Monárquico 22 ; Keila Grinberg, Liberata – a lei da ambiguidade:
as ações de liberdade da Corte de Apelação do Rio de Janeiro no
século XIX 23 ; Id., O Fiador dos Brasileiros: Cidadania, Escravi-
dão e Direito Civil no Tempo de Antonio Pereira Rebouças 24 ; Júnia
Furtado, Chica da Silva e o contratador de diamantes. O outro
lado do mito 25 ; Sílvia Lara (org.), Legislação sobre Escravos Afri-
canos na América Portuguesa 26 ; Kátia M. de Queirós Mattoso,
“A propósito de cartas de alforria. Bahia, 1779-1850” 27 , en-
1 8 Cf., por último, Joaquim Falcão e Rosa Maria Barboza de Araújo, O imperador
das idéias. Gilberto Freyre em questão, Rio de Janeiro, Topbooks, 2000.
19 São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
20 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1992
21 Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, 1995; que
22 Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1999.
23 Rio de Janeiro, Relume Dumará, 1994.
24 Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002
25 S. Paulo, Companhia das Letras, 2003.
26 Madrid, Fundación Histórica Tavera, 2000; sobre o mundo indígena e o directo,
v., ainda, Tahís Luzia Colaço, “Incapacidade indígena”. Tutela religiosa e
violação do direito guarani nas missões jesuíticas,Curitiba, Juruá Editora, 2000.
27 Em Anais de História, (4): 23-52, 1972
11
livro_antonio_m_espanha.p65 11 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
tre uma muito rica bibliografia, em grande parte cobrindo já o
século XIX 28 . O papel dos juristas na construção de um apa-
relho conceitual e legislativo compatível com a escravatura
fica claro no livro de Eduardo Spiller Pena 29 .
O livro de Raymundo Faoro. Os donos do poder 30 , com a
atenção que deu ao papel dos juristas no sistema político de
Antigo Regime, foi muito inspirador, tal como os livros de José
Murillo de Carvalho 31 ou de Edmundo Campos Coelho 32 ,
esses já dedicados ao séc. XIX, mas evidenciando algumas con-
tinuidades relevantes no político papel dos juristas. Também a
obra colectiva Optima pars. Elites ibero-americanas do Antigo
Regime, org. por Nuno G. Monteiro, Pedro Cardim e Mafalda So-
ares da Cunha, Lisboa, ICS, 2005, traz contribuições portugue-
sas e brasileiras para um estudo integrado de mecanismos de
poder, encarados, embora, do ponto do vista dos seus titula-
res, e não tanto dos seus mecanismos.
Se a historiografia penal de Antigo Regime tem apare-
cido menos 33 , o mesmo já não se pode dizer da historiografia
sobre as formas de resistência e revolta. Relembro o livro de
28 Cf. http://www.oah.org/meetings/2004/grinberg.html: State of the Field:
Slavery. Slavery in Brazil: The Recent Historiography. Bibliography. Organized
by Keila Grinberg.University of Rio de Janeiro
29 Eduardo Spiller Pena, Pajens da casa imperial. Jurisconsultos, escravatura e a
lei de 1871, Campinas, Editora da UNICAMP, 2001.
30 7ª ed. Rio de Janeiro: Globo, 1987. 2 vols..
31 I – A Construção da Ordem, II – Teatro de Sombras, 2ª ed., Rio de Janeiro, Editora
UFRJ/Relume Dumará, 1996 (notáveis).
32 As Profissões Imperiais: Advocacia, Medicina e Engenharia no Rio de Janeiro, 1822-
1930. Rio de Janeiro: Editora Record, 1999.
33 V., em todo o caso, p.s., Textos de história, Volume 6(1998), N° duplo: 1 e 2
(Degredo no império colonial português).
12
livro_antonio_m_espanha.p65 12 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Laura Mello e Souza, Norma e Conflito: Aspectos da História
de Minas no Século XVIII , já citado, o livro de Carla M. J.
Anastasia, Vassalos rebeldes. Violência coletiva nas Minas na
primeira metade do século XVIII 34
e a obra de Luciano
Figueiredo (Luciano R. de A.Figueiredo, Revoltas, Fiscalidade
e Identidade Colonial na América Portuguesa. Rio de Janeiro, Bahia
e Minas Gerais (1640-1761). Tese de Doutorado apresentada
ao Departamento de História da FFLCH da USP, 1996), com
todo o interesse que subsequentemente vem levantando 35 .
No domínio da inventariação e publicação de novas
fontes relevantes para a história institucional e jurídica colo-
nial, saliento o trabalho de Esther Bertoletti (responsável pelo
Projecto “Resgate”, uma iniciativa exemplar do Governo bra-
sileiro, integrada nas comemorações do Descobrimento) e Caio
Boschi 36 . Chamo a atenção para a importância da documen-
tação publicada, por exemplo, no Códice Matoso – Coleção das
notícias dos primeiros descobrimentos das minas na América que
fez o doutor Caetano da Costa Matoso em 1749 37 .
34 Belo Horizonte: C/Arte, 1998.
35 Cf., ainda, Luciano R. de A. Figueiredo, “Protestos, revoltas e fiscalidade no
Brasil Colonial”. LPH: Revista de História. 5 (1995): 56-87.
36 Que também tem estudos de história das missões com interesse para a a
história jurídica.
37 Belo Horizonte, Fundação João Pinheiro, Centro de Estudos Históricos e Cultu-
rais, 1999. Coleção Mineiriana, Série Obras de Referência. Coordenação geral
Luciano Raposo de Almeida Figueiredo e Maria Verônica Campos, estudo
crítico Luciano Raposo de Almeida Figueiredo, 2002. 1999.
13
livro_antonio_m_espanha.p65 13 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
É com tudo isto, e com muito mais que aqui não fica
registado, que este livro deve ser reconsiderado. De momen-
to, deixo ao leitor mais essa tarefa 38 .
Por fim, agradeço à Fundação José Arthur Boiteux e
aos colegas Arno Dal Ri Júnior e Orides Mezzaroba a possi-
bilidade que me ofereceram de publicar este livro no Brasil,
onde ele era praticamente desconhecido.
Lisboa, Junho 2005.
António Manuel Hespanha
38 V. Laima Mesgravis, “A sociedade brasileira e a historiografia colonial”, em
Marcos César de Freitas (org.), Historiografia brasileira em perspectiva, S. Paulo,
Contexto, 2001.
14
livro_antonio_m_espanha.p65 14 11/11/2005, 03:02
PARTE I
livro_antonio_m_espanha.p65 15 11/11/2005, 03:02
livro_antonio_m_espanha.p65 16 11/11/2005, 03:02
INTRODUÇÃO
Objectivos da aprendizagem
Quando terminar esta unidade, o aluno deve ser capaz de:
• Explicar a autonomia da história institucional, que
a distingue tanto da história social como da histó-
ria pura do direito;
• Identificar as actuais linhas de força da história
institucional.
1. Evolução recente da história institucional e política
A história institucional e política, concebida como
história dos mecanismos de disciplina social, é uma das
mais antigas disciplinas historiográficas especializadas da
tradição cultural europeia. A história do direito, cultivada
autonomamente desde o século XVI, pode ser considerada
como um precursor seu, embora com um âmbito mais restri-
to, pois ocupava-se apenas do direito oficial e letrado39 . No
entanto, o romantismo do século XIX, nomeadamente a Es-
cola histórica alemã (C. F. von Savigny, 1779-1861), alarga
decisivamente o objecto desta, ao conceber o direito como
uma componente cultural que emanava do “espírito do povo”
39 Sobre estes conceitos, v., infra, III.
livro_antonio_m_espanha.p65 17 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
(Volksgeist) e que incorpora, portanto, ao lado do direito es-
tadual e da tradição jurídica letrada (Professorenrecht), o di-
reito “popular” ou “vivido”. No início deste século, o
sociologismo jurídico (F. Ehrlich, E. Durkheim) e o
institucionalismo (Léon Duguit, Santi Romano)40 acentua-
ram ainda mais esta identificação do direito com os mecanis-
mos de organização e de disciplina “espontâneos” (the law in
action, por contraposição a the law in the books); daí que a
historiografia jurídica influenciada por estas correntes se te-
nha ocupado de todas as manifestações de normação social,
provindas ou não do Estado.
Não eram, portanto, estas orientações metodológicas
que mereceriam as críticas de formalismo que a primeira ge-
ração da Escola dos Annales dirigiu contra a história políti-
ca e jurídica41 . Os destinatários destas críticas eram antes os
historiadores do direito, que dominavam as faculdades jurí-
dicas e que faziam uma história “estritamente jurídica”,
dirigida unicamente para a descrição da evolução do direito
oficial e letrado, dos seus aspectos legislativos e conceituais
(ou “dogmáticos”) (Dogmengeschichte), não considerando,
nem o contexto social destes, nem as múltiplas formas de or-
ganização e de constrangimento que não têm origem no po-
der oficial, nem abrigo no discurso letrado sobre o direito42 .
40 Sobre estas correntes, v. Wieacker, 1993, 645 ss.; Hespanha, 1986a.
41 Cf. Hespanha, 1984; Hespanha, 1986.
42 Outros autores, com diferentes parentelas metodológicas, tinham criticado a
separação rígida entre a história do direito e a história social. É o caso de Otto
Brunner, que denunciou a “ideia de separação” (Trennungsdenken) cultivada pela
historiografia jurídica dominante. Sobre este autor, v. Hespanha, 1984, 33 ss.
18
livro_antonio_m_espanha.p65 18 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
A crítica da Escola dos Annales era justa, se dirigida
apenas contra quem a merecia. Mas acabou por ter efeitos
excessivos e prejudiciais. Excessivos, por atingir, indistinta-
mente, toda a historiografia do poder e das instituições, mes-
mo aquela que nunca tinha perdido de vista que, como insti-
tuição social, o direito não podia deixar de manter relações
multifacetadas com a realidade social envolvente. Prejudi-
ciais, porque levou os historiadores a deixarem, inconsidera-
damente, fora do seu campo de análise os fenómenos
institucionais e jurídicos, como se estes não fossem senão
consequências directas e imediatas dos fenómenos sociais.
Paradigmático é o exemplo de F. Braudel que, na sua monu-
mental obra sobre a bacia do Mediterrâneo (justamente uma
área de enorme importância no plano das formas jurídicas43 ),
ignora completamente os aspectos jurídicos e político-institu-
cionais, com os quais, nomeadamente nessa época, a cultura
jurídica meridional cunhou modelos mentais, institucionais
e políticos que dominaram duradouramente a cultura e a
sociedade europeias quase até aos nossos dias. O que quer
dizer que nem se tratava de aspectos laterais e derivados,
nem de meros événements conjunturais e passageiros. Como
resultado, a perspectiva da história das instituições era igno-
rada, sendo as formas jurídicas, institucionais e políticas re-
duzidas a um “mero reflexo” da prática económico-social
(“economicismo”), desprovidos de espessura e autonomia.
43 Cf., infra, III.
19
livro_antonio_m_espanha.p65 19 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Os anos 70 constituíram, neste domínio da história
institucional e política, uma época decisiva de mudança.
Vários factores podem ser relacionados com isto:
- Em primeiro lugar, o aparecimento de novas gerações de
historiadores do direito – marcados pela influência do mar-
xismo pós-gramsciano (A. Gramsci, G. della Volpe, L.
Althusser, N. Poulantzas), mais atento à autonomia dos
vários níveis da prática social, e pela primeira vaga dos
Annales – favoreceu a superação, quer do formalismo da
história jurídica tradicional, quer do reduccionismo
economicista da historiografia marxista clássica.
- Em segundo lugar, novas correntes da teoria política e
sociológica (sobretudo, autores como L. Althusser, H.
Marcuse, J. Habermas, M. Foucault, P. Bourdieu, N.
Luhmann) sugeriram modelos teóricos mais matizados e
produtivos para a conceptualização das relações entre o
contexto social e as formas político-institucionais (nos seus
níveis institucional, discursivo e ideológico).
- Em terceiro lugar, a “crise do Estado”44 e os progressos
da antropologia política e jurídica (Richard Abel,
Boaventura Sousa Santos, Clifford Geertz45 ) fomenta-
44 Cf. R. Ruffili (ed.), Crisi dello Stato e storiografia contemporanea, Bolonha, 1979.
Que pensar com coragem e desassombro é uma tarefa arriscada prova-o a
trágica morte deste autor que, pela notoriedade que adquiriu como pensador
político alternativo, foi, pouco depois, assassinado pelas Brigade rosse.
45 Cf. alguns textos principais em A. M. Hespanha (dir.), Justiça e Litigiosidade.
História. e Prospectiva, Lisboa, Gulbenkian, 1994.
20
livro_antonio_m_espanha.p65 20 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
ram uma consciência mais viva do carácter cultural, his-
tórico, “local”, dos paradigmas políticos e jurídicos do
primeiro mundo, dominados pelo “estatismo” e pelo
“positivismo legalista”46 , e abriram a via para uma histó-
ria institucional mais atenta à alteridade de outros mode-
los de organizar e de normalizar47 .
- Finalmente, as teorias do discurso desvendaram mecanis-
mos muito subtis de condicionamento recíproco entre o
contexto e o texto, mostrando como este não apenas tem
capacidades genéticas autónomas (é, neste sentido,
autocriador [“autopoiético”]), como pode criar e difundir
modelos de apreensão do mundo que, nessa medida, in-
fluenciam as estratégias práticas dos agentes históricos48 .
2. Linhas de força da história institucional
Passada a época dos manifestos49 , esta nova história
institucional entrou numa fase de realizações, das quais se
podem identificar as seguintes linhas de força50 :
- Reelaboração do conceito de direito e de instituições, no
sentido de uma incorporação no objecto da história (e so-
ciologia) das instituições, quer dos mecanismos “não ofi-
46 Cf., Hespanha, 1984,26 ss.
47 Portanto, menos crono- e etnocêntrica.
48 Para alguma informação suplementar, cf., infra, III.
49 Sobre a problemática recente da história institucional, v. o importante conjunto
de contributos em Grossi, 1986, e ainda, Hespanha, 1992.
50 Cf., também, Hespanha, 1986, 1986a e 1986b; Hespanha, 1992.
21
livro_antonio_m_espanha.p65 21 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
ciais” e espontâneos de organização e de disciplina, quer
de formas de controlo social que não funcionam segundo
o modelo da interdição e da sanção (como o direito), mas
segundo mecanismos “positivos” de condicionamento
(como a amizade, a liberalidade, a graça51 , o amor ou os
dispositivos de “política social”, típicos do Wellfare State)52 .
- Interesse pelos mecanismos de organização e disciplina
sociais “vividos” ou “espontâneos”, e pelos sistemas sim-
bólicos (frequentemente implícitos e impensados) que os
geram. Nesta medida, as instituições interessam ao his-
toriador, quer como formas de organização prática da
vida social, quer como manifestações de modelos men-
tais de apreensão do mundo. Neste segundo aspecto, as
instituições podem ser objecto de “interpretação profun-
da (ou densa)” (thick [or deep] interpretation, C. Geertz)53
e revelar um universo profundo de crenças que coman-
da a vida quotidiana de cada cultura (inclusivamente
da cultura contemporânea)54 .
51 Cf. infra, IV.5.2.
52 Cf., sobre o tema, Hespanha, 1992a.
53 Por “interpretação densa” entende-se uma leitura das práticas humanas dirigida
a identificar os sistemas simbólicos (de idéias, de valores) que lhes subjazem e
nos termos dos quais elas ganham sentido para os próprios agentes.
54 Todo o capítulo II.1 não é senão uma identificação do impensado social que
comandava a lógica institucional da sociedade de Antigo Regime. Também nos
capítulos lI.2. e lI.3., procuraremos, nesta linha, explicitar, a partir da análise
institucional, as concepções muito profundas que a cultura medieval e moderna
tinha acerca do que era uma “pessoa” ou uma “coisa” e mostrar como este
impensado se manifestava em consequências práticas, nomeadamente em
consequências normativas. Também os caps. IV.1. e IV.2. arrancam da descrição
do imaginário social subjacente à regulamentação da família e da Igreja, obtido
por uma “interpretação densa” das instituições e conceitos do direito.
22
livro_antonio_m_espanha.p65 22 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
- Interesse pelo discurso jurídico, enquanto plano autónomo
de análise. Quer enquanto ele institui modelos de apreen-
der (juridicamente) o mundo e de agir (juridicamente)
sobre ele (e, logo, dirige a prática55 ), quer enquanto ele
resulta, ele mesmo, de práticas de produção específicas,
dependentes de factores sociais gerais e locais, que
condicionam os seus conteúdos56 .
- Realce do carácter alternativo (diferente) dos modelos
institucionais, jurídicos e políticos do Antigo Regime, em
termos tais que se toma ilegítimo aplicar à sua descrição e
interpretação as categorias com que, hoje em dia, com-
preendemos a política e o direito57 .
3. Este manual
Neste manual de história institucional tento partir para
a descrição dos mecanismos institucionais concretos de uma
descrição da sua lógica profunda. Como já antes referi, uma
das mais fortes aquisições da história (da sociologia e da
antropologia) dos nossos dias é a ideia de que por detrás
dos actos da vida quotidiana existem constelações de repre-
sentações, de imagens, de categorias, de sentimentos, por
meio das quais apreendemos o mundo e com auxílio das
55 No capítulo sobre o direito penal (cf., infra, 4.5.2), mostraremos como os vários
conceitos (“tipos”) de crimes constituem uma grelha para classificar as acções
humanas, para estabelecer semelhanças e diferenças entre elas, e para lhes
atribuir resultados punitivos.
56 Sobre este tipo de análise do discurso jurídico, cf. Hespanha, 1978.
57 Cf., sobre isto, Hespanha, 1984, 24 ss., e Hespanha, 1986b.
23
livro_antonio_m_espanha.p65 23 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
quais organizamos a acção. Isto acontece também com es-
sas formas organizativas mais permanentes que são as ins-
tituições. Por isso, se identificarmos esses quadros fundamen-
tais da cognição e da sensibilidade, os detalhes da organiza-
ção social ganham o seu sentido original, tomam-se “lógicos”,
previsíveis, e o seu estudo toma-se, correspondentemente, mais
fácil e, ao mesmo tempo, mais produtivo.
Acresce que esses quadros, além de constituírem
fenómenos de longa duração58 , são também entidades que
não conhecem as fronteiras dos reinos, antes tendo vigência
em amplas áreas culturais. Estes que aqui descrevemos vale-
ram, no seu fundamental, para toda a Europa sul-ocidental.
Por isso, deixa-se entender facilmente a partir deles a estru-
tura institucional básica dos reinos ibéricos, das unidades
políticas italianas e, em parte, do reino de França. Mas, em
virtude da expansão da tradição jurídica romanista por toda
a Europa ocidental, a capacidade modeladora deste modelo
político-institucional atinge a Alemanha, a Inglaterra, a Es-
cócia e os países escandinavos59 .
Este facto da vigência geograficamente alargada das
matrizes jurídico-culturais que vamos estudar dispensa-nos
de proceder a uma história comparativa das instituições.
Como vamos lidar, basicamente, com os dados culturais que
58 Como se pode ver, por exemplo, nas categorias do imaginário social descritas
no cap. II.1.
59 Aqui, no entanto, com algumas especialidades decorrentes da cultura da Re-
forma.
24
livro_antonio_m_espanha.p65 24 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
estão na origem comum dos mecanismos jurídicos de toda a
Europa central e ocidental, ficamos a dispor de uma chave,
também comum, para entender os detalhes institucionais
concretos que estes dados geraram nas conjunturas dos vári-
os reinos. A partir daqui, o estudo das particularidades não
apenas se toma mais fácil, como permite relacionar os desvi-
os com particulares conjunturas culturais e políticas e, com
isto, apreender o significado das diferenças.
Os exemplos e as ilustrações apresentados são, assim,
quase sempre os do reino de Portugal. Com o que se cumpre
um segundo objectivo do manual, qual seja o de apresentar
uma descrição precisa dos quadros institucionais portugue-
ses, desde a organização da família até à organização do
reino e da Igreja. Dentro das limitações impostas pela dimen-
são do manual, procurou-se mesmo abordar aspectos menos
tratados, como o estado das pessoas (cap. II.2.), os direitos so-
bre as coisas (cap. II.3.) e o direito penal (cap. IV.5.2.).
Procurei simplificar, quanto possível, o texto da exposi-
ção. Mas não fiz economia da linguagem técnica precisa,
quando ela era indispensável. Por meio de notas e de refe-
rências bibliográficas procuro convidar todos a um trabalho
criativo e crítico de continuação (ou de reconstrução) dos
resultados aqui apresentados.
Tenho a noção, que aqui confesso e assumo, de que, na
sua linha geral, este manual vai ao arrepio da historiografia
política e institucional mais corrente entre nós. Descontando
embora tudo o que tudo tem de pessoal, abono-me, sobretu-
25
livro_antonio_m_espanha.p65 25 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
do, na autoridade das fontes, a que constantemente recorro
e que explicitamente cito. E também, porventura, numa nova
maneira de as ler, explicável a partir do que acabei de dizer
na curta introdução metodológica.
Bibliografia citada
GROSSI, Paolo (dir.), Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti
d’indagine e ipotesi di lavoro, Milano, Giuffre, 1986, 2 vols.
HESPANHA, António Manuel, “O materialismo histórico na história
do direito”, in A. M. Hespanha, A História do Direito na História Social,
Lisboa, Livros Horizonte, 1978, pp. 9-69.
HESPANHA, António Manuel, “Para uma teoria da história político-
institucional do Antigo Regime”, in A. M. Hespanha (dir.), Poder e Insti-
tuições na Europa do Antigo Regime, Lisboa, Gulbenkian, 1984, pp. 7-90.
HESPANHA, António Manuel, “A história das instituições e a ‘morte do
Estado’”, in Anuario de filosofia del derecho, Madrid 1986a, pp. 191-227.
HESPANHA, António Manuel, “Para uma nova história do direito?”,
in Vértice, 470-472, 1986b, pp. 17-33.
* HESPANHA, António Manuel, Poder e Instituições no Antigo Regime.
Guia de estudo, Lisboa, Cosmos, 1992.
* HESPANHA, António Manuel, “O poder, o direito e a justiça numa
era de perplexidades” in Administração. Administração Pública de Macau
(15) (1992a), pp. 7-21 (incluindo a versão chinesa).
WIEACKER, Franz, História do Direito Privado Moderno (trad. port.
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit [...]), 1967, 2.ed., Lisboa, Gulbenkian, 1993.
Bibliografia sugerida – As obras assinaladas com*.
26
livro_antonio_m_espanha.p65 26 11/11/2005, 03:02
PARTE II
O IMAGINÁRIO DA SOCIEDADE
E DO PODER
livro_antonio_m_espanha.p65 27 11/11/2005, 03:02
livro_antonio_m_espanha.p65 28 11/11/2005, 03:02
1. A SOCIEDADE
Objectivos da aprendizagem
Quando terminar esta unidade, o aluno deve ser capaz de:
• Identificar os traços fundamentais da constituição po-
lítica do Antigo Regime e derivá-los da ideia de corpo.
• Identificar os traços fundamentais do imaginário
absolutista e liberal e derivá-los da ideia de indiví-
duo, de vontade e de pacto.
• Compreender as razões do carácter central da ideia de
justiça no imaginário da sociedade de Antigo Regime.
• Compreender a oposição fundamental entre razão
e vontade, natureza e pacto, como fundamentos
teóricos da sociabilidade política.
1.1 A concepção corporativa da sociedade
O pensamento social e político medieval era domi-
nado pela idéia da existência de uma ordem universal (cos-
mos), abrangendo os homens e as coisas, que orientava
todas as criaturas para um objectivo último que o pensa-
mento cristão identificava com o próprio Criador. Assim,
tanto o mundo físico como o mundo humano não eram ex-
plicáveis sem a referência a esse fim que os transcendia, a
livro_antonio_m_espanha.p65 29 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
esse telos, a essa causa final (para utilizar uma impressiva
formulação da filosofia aristotélica); o que transformava o
mundo na mera face visível de uma realidade mais global,
natural e sobrenatural, cujo (re)conhecimento era indispen-
sável como fundamento de qualquer proposta política. Por
isso teve então tanto êxito um texto do Digesto que definia a
prudência (= saber prático) do direito (que, então, desempe-
nhava o papel de teoria política) como uma “ciência do justo
e do injusto, baseada no conhecimento das coisas divinas e
humanas” (divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti
atque iniusti scientia, D,I,1,10,2).
A unidade dos objectivos da criação não exigia que as
funções de cada uma das partes do todo na consecução dos
objectivos globais da Criação fossem idênticas às das ou-
tras. Pelo contrário, o pensamento medieval sempre se man-
teve firmemente agarrado à ideia de que cada parte do todo
cooperava de forma diferente na realização do destino cósmi-
co. Por outras palavras, a unidade da Criação não comprome-
tia, antes pressupunha, a especificidade e irredutibilidade dos
objectivos de cada uma das “ordens da criação” e, dentro da
espécie humana, de cada grupo ou corpo social.
Ligada a esta, a ideia de indispensabilidade de todos
os órgãos da sociedade e, logo, da impossibilidade de um
poder político “simples”, “puro”, não partilhado. Tão mons-
truoso como um corpo que se reduzisse à cabeça, seria uma
sociedade em que todo o poder estivesse concentrado no so-
berano. O poder era, por natureza, repartido; e, numa socie-
30
livro_antonio_m_espanha.p65 30 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
dade bem governada, esta partilha natural deveria traduzir-
se na autonomia político-jurídica (iurisdictio) dos corpos so-
ciais. A função da cabeça (caput) não é, pois, a de destruir a
autonomia de cada corpo social (partium corporis operatio
propria, o funcionamento próprio de cada uma das partes do
corpo), mas por um lado, a de representar externamente a
unidade do corpo, e, por outro, a de manter a harmonia en-
tre todos os seus membros, atribuindo a cada um aquilo que
lhe é próprio (ius suum cuique tribuendi), garantindo a cada
qual o seu estatuto (“foro”, “direito”, “privilégio”); numa
palavra, realizando a justiça (iustitia est constans et perpetua
voluntas ius suum unique tribuendi, a justiça é a vontade cons-
tante e perpétua de dar a cada um o que é seu, D,I,1,1,10,1).
E assim é que a realização da justiça – finalidade que os juris-
tas e politólogos tardo-medievais e primo-modernos conside-
ram como o primeiro ou até o único fim do poder político – se
acaba por confundir com a manutenção da ordem social e
política objectivamente estabelecida.
Por outro lado, faz parte deste património doutrinal a
ideia, já antes esboçada, de que cada corpo social, como cada
órgão corporal, tem a sua própria função (officium), de modo
que a cada corpo deve ser conferida a autonomia necessária
para que a possa desempenhar. A esta ideia de autonomia
funcional dos corpos anda ligada, como se vê, a ideia de
autogoverno que o pensamento jurídico medieval designou
por iurisdictio e na qual englobou o poder de fazer leis e esta-
tutos (potestas lex ac statuta condendi), de constituir magistra-
31
livro_antonio_m_espanha.p65 31 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
dos (potestas magistratus constituendi) e, de um modo mais
geral, de julgar os conflitos (potestas ius dicendi) e de emitir
comandos (potestas praeceptiva).
Por fim, saliente-se a ideia do carácter natural da cons-
tituição social. Daqui decorre a natureza indisponível das
leis fundamentais (“constituição”) de uma sociedade (de um
reino), pois estas dependem tão pouco da vontade como a
fisiologia do corpo humano ou a ordem da Natureza. É certo
que soberano e vassalos podem temporariamente afastar-se
das leis naturais de ordenação social, pela tirania ou pela
revolução; mas o mau governo, contra o qual as próprias
pedras clamarão, é sempre um episódio político passageiro.
O que os povos já poderão eleger – embora de acordo, tam-
bém, com características objectivas das várias nações, por sua
vez ligadas às particularidades da terra e do clima – são as
formas de governo: a monarquia, a aristocracia, a democra-
cia ou qualquer forma de governo misto, proveniente do cru-
zamento destes regimes-tipo referidos por Aristóteles. Como
podem explicitar e adaptar às condições de cada comunida-
de, através do direito civil (ius civile, i. e., do direito da cida-
de) os princípios jurídicos decorrentes da natureza das soci-
edades humanas (ius naturale60 ). Mas a constituição natural
conserva-se sempre como um critério superior para aferir a
legitimidade do direito estabelecido pelo poder, sendo tão
vigente e positiva como este61 .
60 Cf., infra, III.
61 Cf., infra, IV.5.3.
32
livro_antonio_m_espanha.p65 32 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Nestes termos, o direito – todo ele, mas sobretudo o
natural – desempenha uma função constitucional. Impõe-
se a todo o poder. Não pode – ou, pelo menos, não deve – ser
alterado. E isto porque se funda nos princípios necessários
de toda a convivência humana (affectio societatis). E não por-
que se fundamente num pacto primitivo ou num pacto histó-
rico estabelecido, por exemplo, em cortes, como supõem os
historiadores que sobrevalorizam o “pactismo” medieval ou
moderno62 . Em virtude desta função constitucional do direi-
to, toda a actividade política aparece subsumida ao modelo
“jurisdicionalista”. Ou seja, toda a actividade dos poderes
superiores – ou mesmo do poder supremo – é tida como orien-
tada para a resolução de um conflito entre esferas de interes-
ses, conflito que o poder resolve “fazendo justiça”63 .
Caso contrário, o governo será tirania (tyrania in
exercitio), podendo (e devendo) ser objecto de resistência.
1.2 O paradigma individualista
Embora se lhe possam encontrar antecedentes mais re-
cuados (oposição entre estóicos e aristotélicos, entre agostinia-
nismo e tomismo), a genealogia mais directa do paradigma
individualista da sociedade e do poder deve buscar-se na
escolástica franciscana quatrocentista [Duns Scotto (1266-
1308), Guilherme d’Occam (1300-c. 1350)]. É com ela – e com
62 Cf. ibid.
63 Cf., infra, IV. 5.l. (“paradigmas de legitimação ...”).
33
livro_antonio_m_espanha.p65 33 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
uma célebre querela filosófica, a questão “dos universais” –
que se põe em dúvida se não é legítimo, na compreensão da
sociedade, partir do indivíduo e não dos grupos. Na verdade,
passou a entender-se que aqueles atributos ou qualidades
(“universais”) que se predicam dos indivíduos (ser pater
familias, ser escolar, ser plebeu) e que descrevem as relações
sociais em que estes estão integrados não são qualidades in-
corporadas na sua essência, não são “coisas” sem a conside-
ração das quais a sua natureza não pudesse ser integralmente
apreendida – como queriam os “realistas”. Sendo antes meros
“nomes”, externos à essência, e que, portanto, podem ser dei-
xados de lado na consideração desta. Se o fizermos, obtemos
uma série de indivíduos “nus”, incaracterísticos, intermutáveis,
abstractos, “gerais”, iguais. Verdadeiros átomos de uma soci-
edade que, esquecidas as tais “qualidades” sociabilizadoras
agora tornadas descartáveis, podia também ser esquecida pela
teoria social e política. Esquecida a sociedade, i. e., o conjunto
de vínculos interindividuais, o que ficava era o indivíduo, sol-
to, isolado, despido dos seus atributos sociais.
Estava quase criado, por esta discussão aparentemen-
te tão abstracta, um modelo intelectual que iria presidir a
toda a reflexão social durante, pelo menos, os dois últimos
séculos – o indivíduo, abstracto e igual. Ao mesmo tempo
que desapareciam do proscénio as pessoas concretas, ligadas
essencialmente umas às outras por vínculos naturais; e, com
elas, desapareciam os grupos e a sociedade.
34
livro_antonio_m_espanha.p65 34 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Para se completar a revolução intelectual da teoria
política moderna só faltava desligar a sociedade de qualquer
realidade metafísica, laicizando a teoria social e libertando o
indivíduo de quaisquer limitações transcendentes.
Essa revolução levou-a a cabo um novo entendimento
das relações entre o Criador e as criaturas. A teologia tomista,
sobretudo através da “teoria das causas segundas” – ao in-
sistir na relativa autonomia e estabilidade da ordem da Cria-
ção (das “causas segundas”) em relação ao Criador, a “cau-
sa primeira” – garantira uma certa autonomia da Natureza
em face da Graça e, consequentemente, do saber temporal
em face da fé. Mas foi, paradoxalmente, uma recaída no
fideísmo, na concepção de uma completa dependência do
homem e do mundo em relação à vontade absoluta e livre de
Deus que levou a uma plena laicização da teoria social. Se
Deus se move por “impulsos” (teoria do impetus, de raiz
estóica), se os seus desígnios são insondáveis, não resta outro
remédio senão tentar compreender (racionalmente ou por
observação empírica) a ordem do mundo nas suas manifes-
tações puramente externas, como se Deus não existisse, se-
parando rigorosamente as verdades da fé das aquisições
intelectuais. É justamente esta laicização da teoria social –
levada a cabo pelo pensamento jurídico e político desde Hugo
Grócio (1583-1645) e Tomas Hobbes (1588-1679) que a li-
berta de todas as anteriores hipotecas à teologia moral, do
mesmo passo que liberta os indivíduos de todos os vínculos
em relação a outra coisa que não sejam as suas evidências
racionais e os seus impulsos naturais.
35
livro_antonio_m_espanha.p65 35 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Esta laicização da teoria social e a colocação no seu centro
do indivíduo, geral, igual, livre e sujeito a impulsos naturais,
tem consequências centrais para a compreensão do poder.
A partir daqui, este não pode mais ser tido como fun-
dado numa ordem objectiva das coisas; vai ser concebido
como fundado na vontade. Numa ou noutra de duas pers-
pectivas. Ou na vontade soberana de Deus, manifestada na
Terra, também soberanamente, pelo seu lugar-tenente – o
príncipe (providencialismo, direito divino dos reis). Ou pela
vontade dos homens que, levados ou pelos perigos e insegu-
rança da sociedade natural, ou pelo desejo de maximizar a
felicidade e o bem-estar, instituem, por um acordo de vonta-
des, por um pacto, a sociedade civil (contratualismo). A von-
tade (e não um equilíbrio – ratio – preestabelecido) é, tam-
bém, a origem do direito. Guilherme d’Occam descrevera-o,
ou como o que Deus estabeleceu nas Escrituras, ou como o
que decorre racionalmente de algum pacto. E, laicizada a
teoria jurídica, Rousseau definirá a lei como “une déclara-
tion publique et solemnelle de la volonté, générale sur un objet
d’interêt commun” (Lettres écrites de la Montagne, I,6).
Perante este voluntarismo cedem todas as limitações de-
correntes de uma ordem superior à vontade (ordem natural
ou sobrenatural). A constituição e o direito tornam-se disponí-
veis e a sua legitimidade não pode ser questionada em nome
de algum critério normativo de mais alta hierarquia. Daqui se
extrai (na perspectiva providencialista) que Deus pode enviar
tiranos para governar os homens (pecadores, duros), aos quais
36
livro_antonio_m_espanha.p65 36 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
estes devem, apesar de tudo, obedecer. Extrai-se também que
as leis fundamentais, como todos os pactos, são disponíveis, i.
e., factíveis e alteráveis pelos homens, num dado momento his-
tórico. E, finalmente, que todo o direito positivo, bem como
todas as convenções, enquanto produto directo ou indirecto
de pactos, são justos (“positivismo jurídico”)64 .
Para além destes pontos comuns, o paradigma indivi-
dualista e voluntarista na concepção da sociedade e do po-
der desdobra-se em certas correntes típicas. Por um lado, no
providencialismo, que concebe o poder como produto da livre
vontade de Deus, exercitada na terra pelas dinastias reinan-
tes, que assim eram revestidas de uma dignidade quase sa-
grada. Por outro lado, no contratualismo absolutista, que con-
cebe o pacto social como transferindo definitivamente para
os governantes todos os poderes dos cidadãos. Esgotando-se
os direitos naturais naqueles transferidos e não se reconhe-
cendo outra fonte válida de obrigações (nomeadamente, a
religião), o soberano ficava, então, livre de qualquer sujeição
(não ser a de manter a forma geral e abstracta dos coman-
dos, o que distinguiria o seu governo da arbitrariedade do
governo despótico). Por fim, neste quadro apenas sinóptico,
o contratualismo liberal, para o qual o conteúdo do contrato
social estaria limitado pela natureza mesma dos seus
64 Note-se, no entanto, que a ideia de um pacto na origem das sociedades civis
não era estranha à teoria política tradicional. Só que, como vimos, este pacto
apenas definia a forma de governo (que Aristóteles considerara mutável); não
já constituição política fundamental. E mesmo aquela, uma vez estabelecida,
consolidava-se em direitos adquiridos (iura radicata) impossíveis de alterar.
37
livro_antonio_m_espanha.p65 37 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
objectivos – instaurar uma ordem social e política maximi-
zadora dos instintos hedonistas dos homens, pelo que os di-
reitos naturais permaneceriam eficazes mesmo depois de ins-
taurada a sociedade civil65 .
1.3 Orientação bibliográfica
As obras de base para a história do pensamento políti-
co-social moderno são as seguintes: para os séculos XVI e
XVII, Albuquerque, 1978, 1968, 1974; Torgal, 1981. Dispen-
sam, em geral, a consulta de autores anteriores. Para o sécu-
lo XVIII, Moncada, 1949; Langhans, 1957; Dias, 1982; Perei-
ra, 1982; 1983. Perspectivas novas para a história do pensa-
mento político nesta época foram abertas por Curto, 1988.
Síntese, Xavier, 1993.
A descrição dos grandes paradigmas do pensamento
político moderno, desde as suas origens medievais, estão
magistralmente expostos por Villey, 1961; 1968 (com o que
se pode, em grande parte, dispensar a leitura de clássicos
como Otto v. Gierke ou Émile Lousse). A leitura de Wieacker,
1980 (ou, mais recente e especificamente, de Stolleis, 1988),
também se aconselha, pela atenção dedicada aos pensadores
políticos centro-europeus, tão influentes entre nós na segun-
da metade do século XVIII.
65 Sobre estas correntes, com bibliografia suplementar, Xavier, 1993, 127. Sobre as
escolas do pensamento político moderno, Ibid., 127 ss.
38
livro_antonio_m_espanha.p65 38 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Bibliografia citada
ALBUQUERQUE, Martim de, O Pensamento Político no Renascimento
Português, Lisboa, ISCSPU, 1968.
ALBUQUERQUE, Martim de, A Sombra de Maquiavel e a Ética Tradicio-
nal Portuguesa, Lisboa, Inst. Hist. Infante D. Henrique, 1974.
ALBUQUERQUE, Martim de, Jean Bodin na Península Ibérica. Ensaio de
História das Ideias Políticas e de Direito Público, Lisboa, Centro Cultural
de Paris, 1978.
ANDRADE, Alberto Banha de, Vemey e a Cultura do Seu Tempo, Coimbra,
Acta Universitatis Conimbrigensis, 1966.
* CURTO, Diogo Ramada, O Discurso Político em Portugal (1600-1650),
Lisboa, Universidade Aberta, 1988.
DIAS, José S. da Silva, “Pombalismo e teoria política”, in Cultura. His-
tória e Filosofia, (1982), pp. 45-114.
* MONCADA, Luís Cabral de, “Origens do moderno direito portugu-
ês. Época do individualismo filosófico e crítico”, in Estudos de História
do Direito, Coimbra, Acta Universitatis Conimbrigensis, 1949 pp. 55-178.
* MELO (Freire), José Pascoal de, Institutiones iuris civilis lusitani,
Ulysipone, 1789.
LANGHANS, Franz-Paul de Almeida, “História das instituições de
direito público. Fundamentos jurídicos da monarquia portuguesa”,
in Estudos de Direito, Acta Universitatis Conimbrigensis, Coimbra, 1957,
pp. 225-356.
PEREIRA, José Esteves, “A polémica do ‘Novo Código’”, in Cultura.
História e Filosofia, 1(1982), p. 289 ss.
PEREIRA, José Esteves, O Pensamento Político em Portugal no Século XVIII.
António Ribeiro dos Santos, Lisboa, INCM, 1983.
SAMPAIO, Francisco C. de Sousa, Prelecções de Direito Pátrio, Público e
particular, Lisboa, 1793.
SANTOS, António Ribeiro dos, Notas ao plano do Novo Código de direito
Publico de Portugal [...], Coimbra, Imp. Univ., 1844.
39
livro_antonio_m_espanha.p65 39 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
SILVA, Nuno Espinosa Gomes da, História do Direito Português. Fontes
de Direito, Lisboa, Gulbenkian, 1991.
STOLLEIS, Michael, Geschichte des öffentlichen Recht in Deutschland, voI.
I Reichspublizisti und Policeywissenschaft, 1600-1800, München, C. H.
Beck, 1988.
TORGAL, Luís Reis, Ideologia Política e Teoria doEstado na Restauração,
Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade, 1981-1982,2 vols.
VILLEY, Michel, Cours d’histoire de la philosophie du droit, Paris,
1961-1964.
VILLEY, Michel, La formation de la pensée juridique moderne, Paris, 1968.
WIEACKER, Franz, História do Direito Privado Moderno, Lisboa,
Gulbenkian.
* XAVIER, Ângela Barreto, & HESPANHA A. M., “A representação da
sociedade e do poder”, in História de Portugal, voI. IV “O Antigo Regime”,
dir. A. M. Hespanha, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, pp. 121-145.
Bibliografia sugerida – As obras assinaladas com *.
40
livro_antonio_m_espanha.p65 40 11/11/2005, 03:02
2. AS PESSOAS
Objectivos da aprendizagem
Quando terminar esta unidade, o aluno deve ser capaz de:
• Explicar o carácter histórico e cultural (por oposi-
ção a “natural”) de conceitos como o de “pessoa”
ou de “identidade pessoal”;
• Identificar pessoas “artificiais”;
• Explicar o significado central dos conceitos de “pes-
soa” e de “estado” (por oposição a “indivíduo”) no
imaginário jurídico e político do Antigo Regime;
• Definir alguns “estados” da sociedade de Antigo
Regime – nobres, clérigos, peões, escravos, estran-
geiros, mulheres, menores –, bem como os traços
fundamentais da sua situação jurídica e política.
2.1 “Estados” e “pessoas”
O Código Civil português de 1867 abre com a enfática
declaração de que “Só o homem é susceptível de direitos e
obrigações. Nisto consiste a sua capacidade jurídica, ou a sua
personalidade” (artigo 1.°). Este artigo resume a imagem que,
hoje em dia, temos do universo dos sujeitos de direitos.
livro_antonio_m_espanha.p65 41 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Para o nosso imaginário jurídico (e político), todos os
homens, mas exclusivamente eles66 , podem ser titulares de
direitos e de obrigações. Embora, vistas mais em detalhe, as
coisas, mesmo hoje, não sejam assim tão lineares67 , pode di-
zer-se que o universo dos actores no palco do direito e da
política corresponde fundamentalmente ao universo dos
actores no palco da vida quotidiana, tal como ela nos é dada
pelo senso comum. Os suportes dos direitos e das obrigações
são aqueles mesmos com que nos cruzamos na rua e que con-
sideramos como pessoas.
Por outro lado, todas as pessoas jurídicas são iguais e
cada uma delas, uma e uma só. A antropologia jurídica, po-
lítica (e moral) dos dias de hoje assenta fortemente nesta ideia
da igualdade e da unidade das pessoas, reagindo contra to-
das as formas de discriminação entre elas ou de desagrega-
ção da sua identidade pessoal68 .
Para o direito romano, e também para a tradição do
direito comum, em contrapartida, o universo dos titulares
de direito não era um universo de pessoas, no sentido que
o senso comum dá (e já então dava) à palavra, mas de “es-
tados” (status).
66 Tomamos, aqui, a palavra “homem” no seu sentido (politicamente incorrecto...)
genérico, abrangendo homens, mulheres e, como diriam os juristas antigos, ...
hermafroditas e eunucos.
67 Nomeadamente, porque há sujeitos de direito que não são homens, no sentido
natural da palavra (v. g., as chamadas “pessoas jurídicas” ou “pessoas
colectivas”, ou, ainda, os nascituros, para não falar dos “direitos dos animais”).
68 A esquizofrenia é uma doença; a duplicidade, um defeito moral; o uso de
várias identidades pessoais, um crime.
42
livro_antonio_m_espanha.p65 42 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Ao criar o mundo, Deus criara a Ordem. E a Ordem
consiste justamente numa unidade simbiótica; numa trama
articulada de relações mútuas entre entidades, pelas quais umas
dependem, de diversos modos e reciprocamente, de outras.
Neste sentido, todas elas, sem distinção de inteligentes ou bru-
tos, de seres animados ou inanimados, disponibilizam “utili-
dades” e se propõem colher estas, exercendo as “faculdades”
de gozo inerentes à sua situação, ao seu “estado”. Por outras
palavras, todas têm direitos e deveres umas em relação às ou-
tras. A natureza desses deveres e obrigações depende da posi-
ção de cada entidade (status) na ordem do mundo, sendo alheia
à circunstância de disporem ou não de entendimento, de se-
rem pessoas, no sentido mais corrente da palavra.
O que fica dito já dá para entender que, ao tratar dos
sujeitos da política ou do direito, o ponto de partida não há-de
ser constituído pelas pessoas (i.e., os seres dotados de identida-
de física e racional), mas pelas condições (status, “estados”),
ou seja, pelas posições relativas que as criaturas ocupam na
ordem ou ordens da Criação de que fazem parte. E, assim, o
status é definido como “a condição ou qualidade [das pessoas,
mas usando agora a expressão num sentido que já não
corresponde ao do senso comum] que faz com que alguém [ou
alguma coisa] seja membro de alguma sociedade [ou organis-
mo] e tenha comunicação com o seu direito [ou norma de or-
ganização]” (Wolfgang Adam Lauterbach, 1688)69 .
69 Cit. por Coing, 1985, I, 168. As interpolações que fizemos ao texto destinam-se
a evitar uma sua leitura banalizadora, reduzindo-o às evidências de hoje.
43
livro_antonio_m_espanha.p65 43 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Esta diferente concepção do universo dos titulares de
direitos tem uma dupla consequência.
Por um lado, não permite uma rigorosa distinção entre
sujeitos e objectos do direito, decalcada, nomeadamente, na
distinção entre “pessoas” – dotadas do uso da razão, a quem
caberiam, em exclusivo, os direitos e as obrigações70 – e “coi-
sas” – privadas de capacidade racional e que ocupariam, tam-
bém exclusivamente, a posição de objectos desses direitos e
dessas obrigações. Pelo contrário. Direitos e obrigações po-
dem competir, indistintamente, a homens e a outras entida-
des que não têm (ou já não têm) essa qualidade.
Podem competir, desde logo, a seres sobrenaturais,
como Deus, que, nesta medida é titular de direitos juridica-
mente protegidos71 tanto do domínio civil como do penal,
embora o exercício e a defesa destes estejam cometidos aos
seus vigários na terra (o Papa, a Igreja, os reis72 ). Também os
santos e os anjos podem ser titulares de situações jurídicas,
como a propriedade de bens ou a titularidade de cargos.
Conhecido é o exemplo de Santo António, titular de um pos-
to de oficial num regimento algarvio, com os corresponden-
tes direitos, nomeadamente o de receber a sua paga. Titular
de direitos podia ser, ainda, a alma (de pessoa morta), a quem
70 Realçando esta identificação entre os sujeitos de direito e os homens, e critican-
do a anterior “personificação” de seres irracionais, v. Ferreira, 1870, comentário
ao art.o. 1.°.; cf. também, Pascoal de Melo, 1789, II, 1, 1.1 e 2.
71 Sobre o domínio de Deus sobre as coisas, v. Soto 1556, 1. IV, q. 2, art. 2.
72 Como estes não exercem direitos próprios, mas direitos de outrem, este exercí-
cio está vinculado por normas estritas destinadas a salvaguardar que os direi-
tos são efectivamente exercidos no sentido querido pelo seu titular.
44
livro_antonio_m_espanha.p65 44 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
se faziam frequentemente deixas73 . Quando Álvaro Valas-
co74 considerou “incivilis et ridicula” a decisão de alguns tri-
bunais de aceitar a nomeação da própria alma para as se-
gunda e terceira vida de um prazo “de vidas”75 , o que o cho-
cava não era que a alma pudesse ser enfiteuta, mas que, sen-
do ela imortal, se prejudicasse o senhorio, pois este nunca
poderia recuperar o prédio. Só neste sentido ela era, neste
caso, uma “persona minus idonea” (ibid., n. 6).
Personificados eram, ainda, embora só para os sujeitar
a penas, os animais. São conhecidas muitas histórias de pu-
nição de animais76 . Dias Ferreira, que escrevia na década de
60 do século passado, ainda lembrava que, sendo juiz em
Alfândega da Fé, tinha posto fim a um processo intentado
pelo seu antecessor contra um boi que quebrara um braço a
um homem77 . Mesmo as coisas inanimadas podiam ser titu-
lares de direitos. Assim, um prédio podia ser titular de direi-
tos de servidão, a prestar ou por outros prédios (servidões
reais) ou por pessoas (servidões pessoais, como a adscrição,
vinculação de certas pessoas a trabalhar certo prédio). Claro
73 Por exemplo, de rendas com as quais se pagassem missas pela sua salvação. A
instituição da alma como herdeiro foi proibida pela L. 9.9.1769; cf. alvo 20.5.1796.
74 Valasco, 1588, cans. 193, n. 1 ss.
75 Sobre este instituto, v. infra, II.3.
76 Com os quais se tivessem relações sexuais (bestialidade) ou responsáveis por
danos; sobre as acções de pauperie e noxal, utilizáveis no último destes casos, v.
Coing, 1985, 117; Pascoal de Melo, 1789 [Inst. iur. crim.], 1. 7, 8 (não estavam
em uso em Portugal).
77 Ferreira, 1870, I, 6. Só a reforma judiciária de 1832 teria posto fim a estas
práticas. Sobre a punição dos danos causados por animais, V. Manuel de
Almeida e Sousa (Lobão), Tratado pratico das avaliações e dos danos, § 36.
45
livro_antonio_m_espanha.p65 45 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
que o exercício ou a reivindicação destes direitos competia a
uma pessoa. Mas esta era designada pela especial situação
(status, de propriedade, de administração) que o ligava à coi-
sa. Só a identificação do direito com a liberdade e a razão,
obra do racionalismo moderno78 , excluirá que seres despro-
vidos de inteligência possam ser titulares de direitos79 .
Desprovidos, também, de qualquer substrato físico, no
sentido daquele que o senso comum exige para que se possa
falar de pessoa, estavam outros titulares de direitos, como o
nascituro ou o defunto. O nascituro, além de ter direitos pes-
soais protegidos (pela punição do aborto)80 , era também ti-
tular de direitos patrimoniais, como o direito a alimentos81 e
à protecção das suas expectativas sucessórias, situação a que
se reportava o dito romano “nasciturus pro jam natus
habetur, quoties de commodo ejus agitur”, o nascituro tem-
se por já nascido em tudo o que diga respeito aos seus inte-
resses)82 . Quanto ao defunto, além de ser passível de puni-
ção83 , ele era titular de direitos protegidos penalmente, como
o direito à honra, o direito a sepultura e à integridade do
cadáver84 , mas ainda de direitos patrimoniais. Uns e outros
78 Cf. infra, II.3.
79 Cf. Soto, 1556, IV, q. I, sect. 2, p. 283.
80 Sobre a punição do aborto no direito moderno, v. Pascoal de Melo, 1789 [Inst.
iur. crim.], 9, 14 (no nosso direito não era expressamente punido; cf., em todo o
caso, Ord. fil., I, 73,4; v. 35); Sousa, 1816; Carneiro, 1851,67.
81 Sobre o curador do ventre (de mulher prenha), v. Lobão, 1828, II, tit. 12, sec. IV.
82 Cf. Carneiro, 1851, I, 65 ss.
83 Privação de sepultura, infâmia, censuras eclesiásticas, Carneiro, 1851,67, n. 11 ss.
84 Cf. Carneiro, 1851, I, 67, n. 11 ss.; Sousa, 1816, 2,2,1,1, § 6.
46
livro_antonio_m_espanha.p65 46 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
eram actuados ou pelo príncipe (em Portugal por meio do
curador dos defuntos e ausentes85 , ou pela punição penal
pública das ofensas feitas aos seus restos mortais) ou pelos
herdeiros86 . Em qualquer dos casos, o verdadeiro titular dos
direitos era o defunto, de que o herdeiro, mais do que repre-
sentante, era a mesma pessoa87 , assumindo as próprias carac-
terísticas e qualidades, mesmo psíquicas, do falecido. Assim,
por exemplo, ‘ele respondia por disposições psíquicas
pessoalíssimas do de cuius, como a sua ignorância, o seu dolo
ou a sua má fé 88 . Esta sub-rogação na pessoa do defunto
abrangia mesmo o sexo; e, por isso, uma herdeira podia exer-
cer, nessa qualidade, direitos exclusivos de homens.
Finalmente, são também “personificados” (personae vice
fungitur, D., 49,1,22) conjuntos de pessoas, “pessoas colectivas”,
“corporações”, como as Iuniversitates, collegia ou corpora89 ,90 ,
ou conjuntos de bens, como a herança, o fisco, as piae causae
(hospitais, montes de piedade), as capelas e os morgados91 .
Mas a concepção do universo dos titulares de direitos
como um universo de “estados” (status) autoriza, ainda, a
“personalização” de estados diferentes mesmo que coinci-
85 Cf. Lobão, 1828, II, XII, sec. 1.
86 Ou curador da herança, no caso de não haver herdeiro; cf. Lobão, 1828, II,
12, sec. 2.
87 “Haeres reputantur eadem persona defuncti” (o herdeiro reputa-se a mesma
pessoa do defunto), Amara1, 1610, v. “Haeres”, n. 22 e 23.
88 Cf. Amara1, 1610, ns. 24 ss.
89 Cf. Coing, 1985, I, 167-168.
90 Para o regime das sociedades, em Portugal, cf. Gi1issen, 1988, p. 776.
91 Sobre isto, v. Coing, 1985, I,266-268.
47
livro_antonio_m_espanha.p65 47 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
dam na mesma pessoa. Daí que seja considerado como um
facto natural que a um homem correspondam, do ponto de
vista do direito, várias personificações, vários corpos, vários
“estados”. Como escreve Manuel Álvares Pegas92 , “nem é
novo, nem contrário aos termos da razão, que um e o mesmo
homem, sob diferentes aspectos, use de direitos diferentes”.
O exemplo teológico deste desdobramento da personalidade
era o do mistério da Santíssima Trindade, em que três pesso-
as distintas coexistiam numa só verdadeira. Mas o mesmo
acontecia com o exemplo, bem conhecido, dos “dois corpos
do rei”. Na mesma pessoa física do rei coexistiam a sua “pes-
soa privada” e a sua “pessoa pública”. Ou ainda mais, como,
v. g., se o rei fosse, como era em Portugal, grão-mestre das
ordens militares; ou Duque de Bragança; neste caso, já era
possível distinguir nele quatro pessoas, “cada qual retendo e
conservando a sua natureza e qualidades, devendo ser con-
sideradas como independentes umas das outras”93 .
Em face desta multiplicidade de estados, a materialidade
física e psicológica dos homens desaparece. A pessoa deixa
de corresponder a um substrato físico, passando a constituir
o ente que o direito cria para cada faceta, situação ou estado
em que um indivíduo se lhe apresenta. A veste tornou-se cor-
po; o hábito tomou-se monge. “Pessoa – escreve ainda o tra-
dicional Lobão94 – é o homem considerado como em certo
92 Pegas, 1669, XI, ad 2, 35, cap. 265, n. 21.
93 Cf. Pegas, 1669, ibid.
94 Lobão, 1828, II, tit. I, § 1.
48
livro_antonio_m_espanha.p65 48 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
estado”, ou seja, considerado sob o ponto de vista de certa
qualidade “conforme a qual [...] goza de direitos diversos dos
que gozam outros homens” (ibid.).
Então, se são as qualidades, e não os seus suportes
corporais-biológicos, que contam como sujeitos de direitos
e obrigações, estes podem multiplicar-se, encamando e dan-
do vida jurídica autónoma a cada situação ou veste em que
os homens se relacionem uns com os outros. A sociedade,
para o direito, enche-se de uma pletora infinita de pessoas,
na qual se espelha e reverbera, ao ritmo das suas multifomes
relações mútuas, o mundo, esse finito, dos homens. A mo-
bilidade dos estados em relação aos suportes físicos é tal
que se admite a continuidade ou identidade de uma pessoa,
mesmo que mude a identidade do indivíduo físico que a
suporta. É, como vimos, o caso da pessoa do defunto que,
depois da morte, incarna no herdeiro; mas, também o caso
do pai, que incarna nos filhos, mantendo a sua identidade
pessoal 95 -96 . Nestes casos, a realidade jurídica decisiva, a
verdadeira pessoa jurídica, é esse estado, permanente, e não
os indivíduos, transitórios, que lhe dão momentaneamente
uma face97 . Tal é a sociedade de estados (Stãndesgesellschaft),
95 “O pai e o filho são uma e a mesma pessoa pelo que respeita ao direito civil”,
Valasco, 1588, cons. 126, n. 12.
96 A relação entre estado e indivíduo chega a aparecer invertida, atribuindo-se ao
primeiro a eficácia de conformar o aspecto físico do segundo; diz-se, por exem-
plo, que o estado de escravidão destrói a fisionomia e majestade do homem (cf.
Carneiro, 1851, 69, nota a).
97 Cf., neste sentido, Clavero, 1986, maxime, 36.
49
livro_antonio_m_espanha.p65 49 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
característica de Antigo Regime, que antecede a actual so-
ciedade de indivíduos.
No entanto, nem uma tal abundância de pessoas garan-
te – por isso mesmo que a relação entre pessoa jurídica e indi-
víduo empírico não é necessária – que todos os homens sejam
dotados desta capacidade de gozo de direitos. E, na verdade,
há pessoas que, por serem desprovidas de qualidades juridica-
mente atendíveis, não têm qualquer status e, logo, são despro-
vidas de personalidade. Tal é o caso dos escravos98 .
2.2 Os “estados” na sociedade de Antigo Regime
Nesta multiplicidade de estados, sob os quais os indiví-
duos se apresentam e dos quais decorrem os seus direitos e
obrigações, introduziram os juristas alguma ordem, tipifi-
cando alguns que, pelo seu carácter mais genérico, podiam
ser geralmente assumidos pelos indivíduos.
Alguns estavam ligados à própria natureza, enquan-
to esta capacitava ou incapacitava os indivíduos para assu-
mirem certos papéis nas relações sociais e, assim, condicio-
nava as situações sociais, políticas e jurídicas em que estes
se podiam colocar. É o que se passa com o sexo (homens,
mulheres), a idade (infantes, impúberes, menores, maiores),
a perfeição psíquica (insanidade mental, prodigalidade) ou
física (mudez, surdez).
98 “Quem quer que não tenha nenhum destes estados [civil, de cidadania ou fami-
liar, status civilis, civitatis, familiae] é tido, segundo o direito romano, não como
pessoa, mas como coisa”, escreve Vulteius, 1727 (cit. por Coing, 1985, 170).
50
livro_antonio_m_espanha.p65 50 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Outros estados tinham sido introduzidos pelo direito
civil. Recolhendo uma sistematização que vinha do direito
romano, os juristas distinguiam entre o estado de liberdade
(status libertatis), perante o qual os homens se classificavam
em livres e escravos; o estado civil (status civitatis), que os
distinguiam em cidadãos, peregrinos e estrangeiros e, dentro
da primeira categoria, em patrícios (ou nobres), clérigos e
plebe; e o estado de família (status familiae), que distinguia
pai, cônjuge, filhos, parentes e criados. Mas estas classifica-
ções não esgotavam a variedade enorme de estados que po-
diam ocorrer na República99 .
2.2.1 Nobres; clérigos e peões
Uma das classificações mais em evidência na socieda-
de de Antigo Regime era aquela que repartia os homens em
três estados, correspondentes a três grandes funções sociais:
clero, nobreza e povo (Ord. af, I, 63, pr.: “[...] defensores são
um dos três estados que Deus quis per que se mantivesse o
mundo, ca assi como os que rogam pelo povo chamam ora-
dores, e aos que lavram a terra, per que os homens hão de
viver e se mantêm são ditos mantenedores, e os que hão de
defender são chamados defensores.”). Mas, mesmo deste
ponto de vista das funções sociais, a estrutura estatutária era
muito mais complicada na sociedade moderna.
99 “Os estados vulgares são infinitos”, escreve Lobão, 1828, II, tit. 1, § 1; outros
que podem ser considerados são os de ausente, cativo, miserável, infame,
indigno, solteiro, casado, viúvo, etc.
51
livro_antonio_m_espanha.p65 51 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Desde logo, tende-se a distinguir, dentro do povo, os
estados “limpos” (como o dos letrados, lavradores, militares)
dos estados “vis” (como os oficiais mecânicos ou artesãos). É
este o sentido da classificação de um jurista seiscentista por-
tuguês, Melchior Febo (século XVII) – “triplicem in nobilitate
statum, alterum nobilem, mechanicum, artiumque sedenta-
rium alterum, ultimum privilegiatorum, qui militiae, vel arte
a sordida muneribus eximantur” [no que respeita à nobreza
(secular), existem três estados: um o nobre, outro o mecânico
e artesão, o último o dos privilegiados que, pela milícia ou
pela arte se libertam das profissões sórdidas]. Também pro-
gressivamente, este estado popular intermédio entre a no-
breza e as profissões vis – “estado do meio”, “privilegiados”,
“nobreza simples” – vai sendo assimilado à nobreza e, no
seio desta, vai-se constituindo um novo conceito diferenciador,
o de “fidalguia”, ou mesmo, mais tarde e por influência es-
panhola, o de “grandeza”100 -101 .
Esta extensão do estado da nobreza102 – e sua conse-
quente pulverização por classificações suplementares – fica
manifesta ao ler tratados da época sobre a natureza do estado
nobre103 . Aí, recolhendo classificações anteriores (Aristóteles,
100 Cf. Monteiro, 1993.
101 Jorge de Cabedo (séc. XVI/XVII) – “A XXV de Abril de 1687 foi determinado
em Relação que era escuso de paguar oytavo do vinho um cirurgião examina-
do e que se provava ter quartão na estrebaria, porque o foral não diz que
quem não for nobre não pague oitavo, mas diz que o pião pague oitavo;
porque no primeiro caso era necessário provar nobreza ... e no segundo caso
basta provar que não pião”.
102 Cf. Hespanha 1989, 274 ss.
103 V. g. Carvalho 1634 (ed. cons. 1746); Pascoal de Melo, 1789 [Inst. iur. civ.], II,
3; Lobão ] 828, 56.
52
livro_antonio_m_espanha.p65 52 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Bártolo) e adaptando-as a antigas classificações das fontes
portuguesas, distingue-se nobreza “natural” e nobreza “polí-
tica” (ibid., n. 200 ss.). Na primeira, incluem-se o príncipe, os
nobres “ilustres” (correspondentes aos titulares e “fidalgos de
solar”; cf. Ord.fil.,V,92; V, 120); os nobres matriculados nos
livros da nobreza (“fidalgos rasos”; cf. Ord. fil., II,11,9; I,48,15;
III,29; III,59,15; V,120); os nobres por fama imemorial (Ord.
fil., II,11,7-8); aqueles cujo pai era nobre (Ord. fil., V,92). Neste
caso, a pertença ao estatuto decorre da natureza das coisas e
prova-se pelos diversos modos de manifestação da tradição
(desde a prática de actos que competem aos nobres até à “fama
comum e firme”, ibid., n. 209 ss.), eventualmente ratificada
por acto jurídico formal (como a sentença). Como natural,
esta nobreza é também generativa, ou seja, transmissível por
geração. Já a nobreza “política” decorre, não da natureza mas
de normas de direito positivo, dos costumes da cidade (n. 264
ss.). Deste tipo é a nobreza que se obtém pela ciência(1), pela
milícia(2), pelo exercício de certos ofícios(3), pelo privilégio e
pelo decurso do tempo104 .
Também o estado do clero105 se estende progressiva-
mente, embora em muito menor grau do que o da nobreza.
104 A regra, nesta matéria, seria a de que têm nobreza “aqueles que se comportam
como nobres, andando a cavalo, adquirem o estado intermédio de nobreza (n.
457: Ord. fil., IV, 92, I). Mas admite, além disso, os “ricos adquirem nobreza,
independentemente de andarem a cavalo, desde que vivam honestamente e
não se ocupem de ofícios mecânicos” (n. 459); o mesmo aconteceria com os que
estão inscritos nas confrarias das misericórdias (n. 460) e os mercadores com
negócio superior a 100 000 réis (n. 466: Ord. fil.,I,90 e v.138).
105 V. infra, lV.2.
53
livro_antonio_m_espanha.p65 53 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Para além dos clérigos de ordens maiores, gozavam do esta-
tuto eclesiástico clérigos de ordens menores (tonsurados e de
hábito, servindo ofícios eclesiásticos106 : (Ord. fil., II, 1,4; II,
1,27)107 ; os cavaleiros das ordens militares de Cristo, Santia-
go e Avis (Ord.fil., II,12), desde que tivessem comenda ou
tença de que se mantivessem; ou os cavaleiros da Ordem de
Malta (L. 18.9.1602 e 6.12.1612). Mas, para além disto, não
poucos leigos, desde que tivessem alguma relação com os
anteriores. Assim, gozavam de alguma parte do estatuto cle-
rical (nomeadamente em matéria de foro) os escravos e os
criados dos Cavaleiros de Malta108 ; os oblatos da mesma Or-
dem, vivendo sob obediência109 , os familiares e criados dos
coleitores apostólicos, desde que não exerçam ofícios mecâ-
nicos110 ; os “frades leigos” e os noviços111 .
E, mesmo no “estado do povo” muitos são os privilégi-
os – de certas categoria profissionais, dos cidadãos de certa
terra, das mulheres, dos anciãos, dos lavradores, das amas,
dos rendeiros de rendas reais, dos criadores de cavalos – que
eximem ao estado comum112 .
106 Exceptuam-se os donatos da Ordem de Malta e membros de certas ordens
menores (Ord. fil., II, 2), como a Ordem Terceira de S. Francisco ou
confratenidades do mesmo tipo, bem como os eremitas e penitentes (Pegas,
1669, t. 8, p. 322, n. 2).
107 Cf. Pegas, 1669,t. 8, p. 281, n. 3 ss.
108 Cf. Lei da Reformação da Justiça 6.12.1612, n. 6. Comentário, Cabral, 1739,
107 ss.; Pegas, 1669, t. 8, p. 3 315, n. 3. Era controverso se este regime se
aplicava aos colonos e enfiteutas (Pegas, ibid., n. 19). E não se aplicava aos
escravos ou criados de outras ordens.
109 Lei da Reformação da Justiça, n. 12.
110 Ibid., n. 8.
111 Ibid., ns. 14 e 15.
112 V. Hespanha, 1989,279 ss.
54
livro_antonio_m_espanha.p65 54 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Esta multiplicação dos estados privilegiados (i. e., com
um estatuto jurídico-político particular) prossegue incessante-
mente, cada grupo tentando obter o reconhecimento de um
estatuto diferenciador, cujo conteúdo tanto podia ter reflexos
de natureza político-institucional113 ou, mesmo, económica (v.
g., isenções fiscais), como aspectos jurídicos (v. g., regime espe-
cial de prova, prisão domiciliária) ou meramente simbólicos
(v. g., precedências, fórmulas de tratamento).
Com tudo isto, o que se verifica é a progressiva sepa-
ração entre “estado” e as funções sociais tradicionais. No-
bres são cada vez menos os apenas “defensores” (milita-
res), ao mesmo tempo que, com o aparecimento de exérci-
tos profissionais e massificados, muitos militares não são
nobres. Uma extensão do conceito de consilium (que, inici-
almente, era apenas o consilium feudal, apanágio dos no-
bres do séquito real) permite nobilitar os conselheiros ple-
beus, nomeadamente os letrados. E mesmo a riqueza – que
originariamente era fundamentalmente indiferente do ponto
de vista da nobreza – já é considerada nobilitante a partir
do século XVI(4). Ou seja, a progressiva diferenciação soci-
al obriga a um redesenho das taxinomias sociais, embora se
conserve fundamentalmente, como matriz geral de classifi-
113 V. g., interdições profissionais (como a dos cristãos-novos poderem ser admiti-
dos a certos cargos ou “ler no Paço”; como a dos clérigos poderem ser notários;
como a dos nobres poderem exercer ofícios vis); desigualdade do direito (v. g.,
Ord. fil., v. 120); preferência em (ou reserva absoluta de) cargos políticos (v. g.,
exercício de “cargos da governança” em certas terras).
55
livro_antonio_m_espanha.p65 55 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
cação, o antigo esquema trinitário, a que, de resto, corres-
pondia a representação do reino nas cortes.
Saliente-se que a classificação social continua a ser en-
tendida como decorrente da natureza das coisas – da trans-
missão familiar, de uma constituição que se plasma na tra-
dição. E que, embora o direito feudal medieval incluísse nos
direitos do rei (regalia) o poder de conceder armas e brasões
(para além dos senhorios das terras e dos títulos correspon-
dentes), a nobreza é entendida como uma virtude essencial-
mente natural, quer essa natureza seja uma disposição fa-
miliar, transmissível pelo sangue, para servir nobremente,
quer seja a reputação ou fama que objectivamente decorre
do exercício de certas funções sociais. Inovações drásticas
nesta ordem natural introduzidas pelo arbítrio régio (privi-
légio real) são sempre mal recebidas, pelo menos até ao
momento em que, subvertida a concepção corporativa e
substituída por uma matriz voluntarista, se comece a ligar
o estatuto das pessoas – como, em geral, a constituição polí-
tica – a um acto de vontade soberana.
Para além destes, outros estados merecem aqui destaque.
2.2.2 Livres e escravos
Sobre a questão da liberdade dos homens, os juristas
encontravam pontos de apoio contraditório na tradição lite-
rária (cf. infra, III) que frequentavam.
Logo no início do Digesto, a célebre “lei” libertas (D., I,
5,4) afinava enfaticamente o carácter natural da liberdade e
56
livro_antonio_m_espanha.p65 56 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
a origem já “artificial” (de direito das gentes) da escravatu-
ra114 . O texto seguinte dava como origens da escravatura ou
o nascimento de mãe escrava, um acto de venda de si mesmo
ou o cativeiro na guerra. Mas um texto não menos célebre,
este de Aristóteles (Política, I, 4, 1259a), relacionava a escra-
vatura com uma divisão natural dos homens, uns intelectual-
mente mais aptos, outros menos inteligentes e incapazes de
se dirigirem a si mesmos.
A tradição medieval e primo-moderna tendia para a
opinião de que a liberdade era natural. Caída em desuso a
venda de si mesmo (in mancipio seipsum dare)(5), mantinham-
se como causa da escravatura, ou o nascimento de mãe es-
crava 115 , ou o cativeiro na guerra, exigindo-se agora que
esta seja justa(6)116 .
Todavia, a expansão europeia, sobretudo na América e
no Extremo Oriente, vem colocar a delicada questão de justifi-
car a redução à escravatura de povos contra os quais os euro-
peus só dificilmente poderiam justificar a guerra. É neste con-
114 “A liberdade é a faculdade natural daquele que pode fazer aquilo que
quiser, a não ser que seja impedido pela força ou pelo direito. A escravatura
é uma criação do direito das gentes, pela qual alguém está, contra a natureza,
sujeito a outrem”.
115 Em obediência ao príncipio de que o filho segue a condição da mãe (partus
sequitur ventrem). Sobre a justificação deste princípio, que não apenas contra-
dizia o favor libertatis, mas ainda a ideia do carácter mais eficiente da pater-
nidade do que da maternidade (cf. infra, IV.I.), v. Fragoso, 1640, III, p. 618,
n. 11 (como o dono suporta o risco de vida em que incorre a escrava ao dar à
luz, é justo que tire também os benefícios correspondentes, adquirindo a
propriedade do filho!).
116 Cf. Fragoso, 1640, III, lib. 10, disp. 21 e 22. e literatura aí citada, nomeada-
mente, Azpilcueta Navarro, Luís de Molina e Femando Rebelo.
57
livro_antonio_m_espanha.p65 57 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
texto que se recupera a ideia aristotélica de uma servidão na-
tural117 . Concretamente, Domingo de Soto reconhece que, tal
como, dentro de uma cidade, ou até de uma família, há pesso-
as rudes que, consequentemente, carecem de capacidade para
se dirigirem a si mesmos, também no orbe existem nações “que
nasceram para servir” e que, portanto, se devem “subjugar
pela força e submeter à ordem aqueles que, como feras, an-
dam errantes e sem nenhum respeito pelas leis do pacto [de
convivência política], invadindo o alheio por onde quer que
passem” (De iustitia et iure, 1. IV, qu. II, a. II)(7).
Nos séculos XVI e XVII, a escravatura foi uma institui-
ção muito difundida em Portugal118 . Apesar de alguns juris-
tas tratarem do regime das relações entre senhores e escra-
vos119 , não deixa de surpreender um certo silêncio sobre o
tema. Que se explica, seguramente, pelo facto de tal regime
cair dentro da discricionariedade da gestão doméstica, co-
metida ao pater familias (cf. infra, IV.l).
Com o advento do racionalismo iluminista, no século XVIII,
a ideia da unidade do género humano ganha uma nova força.
O direito, como a cultura em geral, é percorrido por uma vaga
de universalismo que, neste domínio do estatuto jurídico e polí-
tico dos povos exóticos, promove o igualitarismo jurídico e a
aplicação geral e abstracta das leis e das soluções políticas.
117 Sobre isto, V. Anthony Pagden, The fall of the natural man and the origins of
comparative ethnology, Cambridge, 1982.
118 Em contrapartida, considerava-se que o direito pátrio (cf. Ord. fil., IV, 42)
extinguira os servos adscritícios; V. Fragoso, 1640, m, p. 615 s.; Pascoal de
Melo, 11, I, 13.
119 Cf. Fragoso, 1640, m, p. 621 ss.; Pascoal de Melo, 11, til. 1.
58
livro_antonio_m_espanha.p65 58 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Este movimento tem várias faces. Uma delas é a tendên-
cia para a abolição das manifestações de sujeição dos não eu-
ropeus aos europeus. Daí decorre o movimento antiescla-
vagista, que, em Portugal, encontra as primeiras manifesta-
ções legislativas ainda no período pombalino (leis de 6 e
7.6.1755 1 alv. 8.5.1750, proibindo o cativeiro de índios do
Brasil120 ; alv. 16.1.1775, concedendo a liberdade a todos os
filhos de escravos nascidos em Portugal; lei de 19.9.1761 e alv.
7.1.1767, proibindo o tráfico de escravos para o Reino)121 .
2.2.3 Naturais e estrangeiros
O direito português de Antigo Regime sobre a qualida-
de de “natural”, de “vizinho” e de estrangeiro estava conti-
do nos tits. 55 e 56 do liv. II das Ord. Fil.122 . Vigorava, neste
domínio, um princípio do ius sanguinis123 , embora mitigado
com algumas regras decorrentes do princípio, oposto, do ius
soli124 . Era natural do reino o filho de pai português, nascido
no reino. O filho de estrangeiro (ainda que a mãe fosse por-
tuguesa), embora nascido no reino, não adquiria a naturali-
dade portuguesa, a não ser que o pai aqui residisse há mais
120 No que respeita aos índios do Brasil, a tradição legislativa contrária à escravi-
dão é bastante antiga (cf. leis de 20.3.1570; 11.9.1595; 5.6.1605; 30.7.1609;
10.9.1611; 9.4.1655; 1.4.1680; 14.10. 1751).
121 Sobre a situação, no início do séc. XIX, v. Pascoal de Melo, II, til. 1; Carneiro,
1851, 101 ss.
122 Que não tinham correspondência nas anteriores, pelo que, antes, se aplicavam
as regras do direito comum (cf. Gilissen, 1988,547 ss.).
123 Isto é, de que a qualidade de natural ou de estrangeiro era determinada pelo
estatuto do pai.
124 Isto é, de que a qualidade de natural ou de estrangeiro era determinada pelo
lugar do nascimento.
59
livro_antonio_m_espanha.p65 59 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
de dez anos. Em contrapartida, o filho de português nascido
no estrangeiro era, em princípio, estrangeiro (cf. Ord. fil., II,
55). A doutrina entendia que o baptismo equivalia ao nasci-
mento, o que naturalizava os convertidos no reino. A natu-
ralização (e desnaturalização) eram regalia reservadas ao rei
(Portugal, 1673, II, c. 15).
Relacionada com a questão da distinção entre nacio-
nais e estrangeiros estava a do direito aplicável às relações
em que participassem estrangeiros.
O direito em vigor em Portugal (e nas suas conquistas)
era, em princípio, o direito português, tal como estava contido
nas Ordenações, legislação real e doutrina vigentes no reino.
No entanto, este princípio não levava a uma pura e sim-
ples aplicação territorial do direito do reino; i. e., a uma aplica-
ção genérica do direito português nos territórios sujeitos à
monarquia, quaisquer que fossem os sujeitos da relação jurídi-
ca, a origem e natureza desta ou o seu objecto. Pois entravam
aqui em funcionamento as normas de direito internacional
privado, que regulavam os critérios pelos quais se decidia a
aplicação do direito de um reino (ou de uma cidade) naquelas
questões que tocassem mais do que uma ordem jurídica.
Neste plano, Portugal adoptava os princípios da teoria
estatutária, desenvolvida pelos juristas europeus a partir do
século XIII125 . Segundo a teoria estatutária126 , a lei só se apli-
125 Cf. Coing, 1985, I, 137 ss.
126 Cujo texto de arranque era C. 1,1,1, Cunctos populos ...: “Queremos que todos
os povos, regidos pelo império da nossa clemência [...]”.
60
livro_antonio_m_espanha.p65 60 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
ca, em princípio, aos súbditos. Este princípio, que contraria-
va uma prática anterior de aplicar territorialmente as leis e
os estatutos, conhecia, todavia, limitações, inspiradas por
soluções casuísticas contidas nos textos romanos, bem como
por razões de equidade. Assim, os contratos e testamentos
reger-se-iam pela lei do local da sua celebração (lex actus); o
processo, pela lei do foro (lex fori); o estatuto pessoal, pela lei
do interessado; a situação jurídica de imóveis, pela lei da sua
localização (lex rei sitae); os actos exprimindo o poder políti-
co (v. g., punição, fiscalidade, administração, etc.) estavam
sujeitos à legislação territorial. Estas soluções podem ser
compendiadas na fórmula de que o alcance de aplicação das
normas está ligado ao alcance do poder de quem as edita:
assim, no caso de bens imóveis, coincide com o território; no
caso de pessoas, coincide com o universo dos súbditos127 .
Nestes termos, o direito português tinha uma aplica-
ção, em princípio, pessoal – aplicava-se a todos os naturais
residentes no reino128 . Daí que estivessem, em princípio, ex-
cluídos do âmbito de aplicação do direito português os factos
relativos ao estatuto pessoal de estrangeiros (como eram as
populações indígenas dos territórios dominados), que, assim,
se continuavam a regular pelos seus direitos pessoais. Estas
regras valiam mesmo em relação aos povos sujeitos manu
127 Cf. Coing, 1985, I, 138 ss.
128 Por “Reino”, entendia-se o território europeu e as suas adjacências, bem
como os territórios sujeitos (“Conquistas” dominationes); Pascoal de Melo,
1789, II,2,2, in fine.
61
livro_antonio_m_espanha.p65 61 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
militari ou até aos cativos, pois estes não eram considerados
escravos (Melo Freire, 1789,I,9,7).
Este princípio da personalidade da aplicação do direito
(ou da prevalência do “critério do sangue”, ius sanguinis) com-
binava-se, porém, com um outro que decorria de pontos de
vista que aproximavam a questão da vigência do direito da
questão do âmbito do poder político (jurisdição) do príncipe.
Para esta perspectiva, a questão de qual o direito que regula
uma relação jurídica não era decidida em função do estatuto
pessoal dos seus sujeitos, mas sim em função da jurisdição (do
poder político) sob a qual tal relação se desenvolvia.
Este segundo ponto de vista tomava-se dominante sem-
pre que a questão sub judice estivesse particularmente relaci-
onada com a afirmação do poder do príncipe (ou com um
interesse geral da república), como no caso das questões pe-
nais, administrativas, de polícia, processuais e fiscais, nas
quais o direito do príncipe devia ter uma aplicação territorial,
independente do estatuto pessoal dos intervenientes. O mes-
mo acontecia quando as questões tivessem um carácter mais
real do que pessoal, como no caso de relações jurídicas sobre
coisas imóveis, que deviam ser regidas pelo direito de locali-
zação da coisa (lex rei sitae). Ou em relação aos negócios pra-
ticados no país. Em qualquer destes casos, não eram reco-
nhecidas aos estrangeiros as prerrogativas jurídicas do seu
estatuto (de não naturais), sendo antes considerados como
“súbditos territoriais” (Melo Freire, II,2, 11)129 .
129 Sobre o direito dos estrangeiros, cf., ainda, Carneiro, 1851, I, 82.
62
livro_antonio_m_espanha.p65 62 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
No entanto, mesmo com estas restrições, os estrangei-
ros domiciliados eram tratados com generosidade, podendo
exercer quase todos os direitos civis, incluindo o direito de
propriedade sobre imóveis e a capacidade sucessória activa e
passiva130 . Mas já o princípio do indigenato, que reservava
os ofícios, benefícios, bens da coroa e comendas para os na-
turais, era recebido e tido, mesmo nos finais do Antigo Regi-
me, como um dos poucos direitos dos súbditos em relação ao
príncipe131 . De resto, vigoravam os preceitos dos acordos e
tratados com os países de origem, tendo muitas comunida-
des estrangeiras as suas conservatórias (juízes privativos),
garantidas por tratado132 .
No domínio jurisdicional, também os estrangeiros esta-
vam sujeitos aos tribunais portugueses, salvo quando existis-
se tratado pelo qual eles gozassem de privilégio de foro133 .
2.2.4 Homens e mulheres
No direito português de Antigo Regime, a mulher
gozava de um estatuto especial, decorrente daquilo que se
pensava ser a sua natureza (imbecillitas sexus, inconstantia
animi, rectitudo judicii, verecundia et honestas). Assim, a mu-
lher não podia ser presa por dívidas (Ord.fil., II, 31,4; Ord.fil.,
130 Em vários países da Europa, o príncipe era o sucessor dos estrangeiros (droit
d’aubaine; cf. Gilissen, 1988, 511); sobre os direitos dos residentes, Pascoal de
Melo, 1789,II 2, I.
131 Cf. Pegas, 1669, XI, ad 2,35, in princ., capo 4, n. 5; Portugal, 1673, II, c. 29, n.
156.
132 Cf. Thomaz, 1843, s.v., “conservatórias”.
133 Sendo então julgados pelo conservador da sua Nação (Carneiro, 1851,86 s.).
63
livro_antonio_m_espanha.p65 63 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
IV, 76, ult); não podia estar em juízo senão por intermédio
do seu procurador (Ord. fil., III, 47; Ord. fil., v. 124, 16); não
ficava, em princípio, obrigada pela fiança dada a favor de
outrem (privilégio “Velleiano”, Ord. fil., IV, 61), estava feri-
da de incapacidades sucessórias (v. g., nos bens da coroa (cf.
infra, IV.A)134 , gozava de algum favor na aplicação das pe-
nas. No entanto, a organização corporativa não excluía as
mulheres, reservando-lhes mesmo uma lei de 8.11.1785 o
comércio de certos géneros.
No domínio dos ofícios, vigorava o princípio, de ori-
gem romana (D., 50, 17,2) de que as mulheres não deviam
ser admitidas aos cargos da república, embora se entendesse
que podiam exercer a jurisdição inerente a certa dignidade
(desde logo, à dignidade régia, de que não estavam excluídas
pelas leis fundamentais)135 .
No caso das mulheres casadas, o estatuto de mulher
combinava-se com o de esposa. Na verdade, era ao marido
que cabia exclusivamente a patria potestas. Mais tarde, a par-
tir de meados do século XVIII, embora se admita que, por
direito natural, à mãe competia também uma quota do po-
der sobre os filhos, continua a ser entendimento pacífico que
esta só o podia exercer na falta do pai. Por outro lado, a
mulher está, ela mesma, sujeita ao poder marital, ao abrigo
134 Sendo ainda habituais cláusulas de masculinidade nas regras sucessórias dos
morgados e dos prazos; cf. Fragoso, 1640, III, 347, n. 6; 356 ss.; 506, n. 1; 540,
n. 11; 603, n. 4.
135 Sobre o exercício de jurisdição eclesiástica, v. infra, IV.2.
64
livro_antonio_m_espanha.p65 64 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
do qual o marido a pode: (i) castigar moderadamente (não a
podia matar ou ferir, Ord. fil., v. 36, 1); (ii) matar, no caso de
surpreender em adultério (bem como ao adúltero, Ord.fil., v.
25 s.; Ord.fil., v.38, pr.). Quanto aos bens, além de ser obriga-
da a sustentar o marido, mesmo pelas forças dos seus bens
próprios, estava privada da administração dos bens do ca-
sal, que cabe sempre ao marido (Ord.fil., IV, 48; 60; 64; 66),
embora com algumas limitações quanto aos poderes de dis-
posição (v. g., de imóveis ou de bens valiosos).
2.2.5 Menores e maiores
Quanto à capacidade em razão da idade, o direito es-
tabelece várias gradações: os impúberes, incapazes de qual-
quer acto; os púberes minimi, maiores de 14 ou de 12 anos,
consoante fossem rapazes ou raparigas, capazes de testar
(Ord. fil., IV, 81, 3) e de casar; os púberes pleni (maiores de 21
ou 18 anos, capazes de se obrigarem (Ord.fil., III, 41; Ord.fil.,
IV, 102-103); finalmente, os maiores de 25 anos, aptos para o
gozo e exercício de todos os direitos, nomeadamente o de
aceder aos ofícios públicos (Ord. fil., I, 94, pr.). A maioridade
podia ser concedida por graça régia, processada pelo
Desembargo do Paço, aos púberes (emancipação)136 .
136 Sobre os filhos de família, v. infra, IV. 1.
65
livro_antonio_m_espanha.p65 65 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Bibliografia citada
AMARAL, Antonio Cardoso do, Liber utilissimus judicum [= Summa seu
praxis judicum, Ulysipone, 1610], ed. util. Conimbricae, 1740.
CARNEIRO, Manuel Borges, Direito Civil de Portugal, Lisboa, 1851.
CARVALHO, João de Tractatus de una, et altera quarta Falcidia [...],
Comimbricae, 1634.
* CLAVERO, Bartolomé, Tantas personas como estados. Por uma
antropología política de la historia europea, Madrid, Tecnos, 1986.
COING, Helmut, Europäisches Privatrecht. 1500 bis 1800, München,
Verlag C. H. Beck, 1985.
DIAS, José Sebastião da Silva, Os Descobrimentos e a Problemática Cultu-
ral do século XVI, Coimbra, Faculdade de Letras, 1973.
FERREIRA, José Dias, Código Civil Anotado, Lisboa, 1870.
GILISSEN, John, Introdução Histórica ao Direito, Lisboa,
Gulbenkian, 1988.
HESPANHA, António Manuel, As Vésperas do Leviathan. Instituições e
Poder Político. Portugal -século XVII, Coimbra, Almedina, 1994.
* HESPANHA, António Manuel, “A nobreza nos tratados jurídicos
dos séculos XVI a XVIII”, in Penélope, 12, 1993.
LOBÃO, Manuel de Almeida e Sousa, Notas a Meio, Lisboa, 1828-1829.
MELO (Freire), José Pascoal, Instituciones Iuris civiles [et criminalis]
lusitani, Ulysipone,1789.
MOLINA, Luis de, Tractatus de iustitiae et de iure, Cuenca, 1593-1600.
MONTEIRO, Nuno G., “Os sistemas familiares”, in J. Mattoso (dir),
História de Portugal, Lisboa, Circulo de Leitores, 1993, vol. IV (<<O
Antigo Regime”, dir. A. M. Hespanha), pp. 279-282.
PEGAS, Manuel Alvares, Commentaria ad Ordinationes regni Lusitaniae,
Ulysipone 1669-1703,12+2 vols.
REBELO, Femando, De obligationibus iustitiae et charitatis, Lugduni, 1608.
ROCHA, Manuel Coelho da, Instituições de Direito Civil Português,
Coimbra, 1848.
66
livro_antonio_m_espanha.p65 66 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
SOTO, Domingo de, De iustitia et de iure, Salmanticae, 1556 (ed. cons.,
ed. bilíngue, Madrid, Inst. Est. Políticos, 1968).
SOUSA, José Joaquim Caetano Pereira e, Classes dos Crimes por Ordem
Systematica, Lisboa, 1816.
TELES, J. M. H. Correia, Digesto Portuguez, I, Lisboa, 1835-1836 (ed.
cons. 1853).
THOMAZ, Luís Filipe e ALVES, Jorge Santos, “Da Cruzada ao Quinto
Império”, in A Memória da Nação, Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora,
1991, pp.81-164.
THOMAZ, Luís Filipe, “L’idée impériale manueline”, in La
découverte. Le Portugal et l’Europe. Actes du Colloque, Paris,
Gulbenkian, 1990, pp. 35-103.
THOMAZ, Manuel Femandes, Repertorio geral ou indice alphabetico das
leis extravagantes, Lisboa, 1843.
VALASCO, Álvaro, Consultationum ac rerum judicatarum in regno
Lusitaniae, Ulysipone, 1588 (ed. cons. Conimbricae, 1730).
Bibliografia sugerida – As obras assinaladas com *.
67
livro_antonio_m_espanha.p65 67 11/11/2005, 03:02
livro_antonio_m_espanha.p65 68 11/11/2005, 03:02
3. AS COISAS E AS SITUAÇÕES REAIS
NO DIREITO DE ANTIGO REGIME
Objectivos da aprendizagem
Quando terminar esta unidade, o aluno deve ser capaz de:
• Explicar o carácter histórico e cultural (por oposi-
ção a “natural”) de conceitos como o de “coisa” (e
sua distinção em relação a “pessoa”);
• Definir o conceito de “coisificação” dos direitos na
ordem jurídica de Antigo Regime;
• Distinguir o conceito moderno de “domínio” do
conceito actual de “propriedade”;
• Definir institutos como os de propriedade, enfi-
teuse, censo;
• Explicar as tendências gerais do liberalismo indivi-
dualista no que respeita às situações reais e suas
manifestações em Portugal.
Se a qualidade de pessoa e o seu estatuto civil e polí-
tico eram o produto de uma certa forma de imaginar o mun-
do humano, também o mundo das coisas (res) e as suas rela-
ções com o mundo dos homens (as situações reais) o eram.
livro_antonio_m_espanha.p65 69 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Vamos procurar reconstituir esse imaginário e as suas
mutações, inspeccionando, quer o conceito de coisa, quer os
conceitos por meio dos quais o direito modela as relações das
pessoas com as coisas. Com isto procuramos atingir, por meio
desta “interpretação densa” das construções jurídicas, a “an-
tologia espontânea” da época.
3.1 As coisas
O correspondente, para o direito, do nosso mundo
externo, é constituído pelo conjunto das coisas. No entan-
to, se nos detivermos um pouco sobre o que o direito co-
mum137 considera uma coisa, logo veremos que o mundo dos
objectos jurídicos é um estranho mundo, que pouco tem a
ver com o mundo dos objectos do senso comum. “Coisa é
um nome geral”, escreve António Cardoso do Amaral, um
jurista português do século XVII138 “compreendendo direi-
tos, contratos e todas as obrigações [...]; trata-se de uma de-
finição perigosa de coisa, pois, devendo a definição ser a
demonstração da substância do definido, se verificam neste,
no caso presente, muitas variações, de acordo com as cir-
cunstâncias dos negócios”. Nesta “definição” convém des-
tacar dois traços: por um lado, o vastíssimo âmbito de “coi-
sa”, que inclui realidades puramente imateriais (como os di-
reitos e as obrigações); por outro lado, a mutabilidade das
137 Ou mesmo o direito actual, embora com outra “gramática” de construção do
seu mundo de objectos.
138 Amaral, 1619, s. v. “res”, n. 1.
70
livro_antonio_m_espanha.p65 70 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
“coisas” que, longe de constituírem dados a se stante, ligados
a uma qualquer realidade material, são antes entidades flui-
das, cuja existência e natureza dependem das circunstânci-
as dos negócios jurídicos que as nomeiam.
Comecemos por esta última característica. Desde logo,
os juristas dizem que o surgir e o desaparecimento das coisas
é um facto do direito e não um facto da Natureza139 . Com
isto querem exprimir os vários efeitos do direito. Em primeiro
lugar que há coisas que só existem no mundo do direito, como
as chamadas “universalidades”, ou seja, coisas (como um
rebanho, uma exploração agrícola [fundus instructus] ou uma
herança) integradas por distintos objectos materiais (ou mes-
mo por objectos materiais e imateriais, como direitos, crédi-
tos, etc.), a que só o direito dá unidade. Em segundo lugar,
que há coisas que carecem de qualquer suporte material, como
os direitos, que surgem e se extinguem no puro campo do
discurso jurídico. Em terceiro lugar, que há coisas às quais o
direito muda a natureza, ficcionando uma natureza que não
é a “natural”, como, por exemplo, quando se considera uma
renda perpétua como uma coisa imóvel, sendo que, natural-
mente, não há nada mais móvel do que o dinheiro140 . Por
fim, que as coisas são passíveis de classificações jurídicas di-
ferentes e incompatíveis entre si, de acordo com o ponto de
vista a partir do qual são encaradas pelo direito: uma cabra
pode ser parte de uma coisa – o rebanho –, uma coisa em si
139 Cf. Amaral, 1610, s.v. “Tes”, n. 35.
140 Cf. Ord. fil.,III, 47.
71
livro_antonio_m_espanha.p65 71 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
mesma e outra coisa em si mesma, mas com características
diferentes depois de morta141 .
Este universo incerto e flutuante das coisas jurídicas
abrangia, porém, muito mais do que objectos externos do
mundo empírico. Isto já se verificou na definição dada por
António Cardoso do Amaral. Mas pode confirmar-se com
aquela que, já nos finais do século XVIII, é dada por Pascoal
de Melo: “as coisas são algo que aumenta os nossos bens e
património, nesta significação se contendo também os direi-
to e as acções (estas entendidas não tanto como coisas
incorporais [...], mas enquanto meios de prosseguir os nossos
direitos)” (Pascoal de Melo, 1978, III, 1, 1).
Parece, portanto, que as coisas se identificam com
tudo o que pode ser objecto de domínio, de se integrar num
património(8).
Em rigor, nem as pessoas estariam fora deste universo.
Em primeiro lugar, porque certas delas podiam, global-
mente, ser objecto de direitos. Referimo-nos aos escravos. A
questão de saber se os homens podem ser objecto de rela-
ções jurídicas confunde-se, no seu âmbito mais geral, com a
questão da legitimidade da escravatura. Para os juristas do
direito comum, a escravatura não era natural, pois, por na-
tureza, todos os homens nascem livres (D, 1, 5, 4; S. Tomás,
Summa Theol., 1-2, q. 94, 5 ad 3). Mas, como explica S. To-
más, que uma coisa seja natural pode querer dizer apenas
141 Cf. Amara1, 1610, s.v. “res”, ad 2, 363.2.
72
livro_antonio_m_espanha.p65 72 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
que, sem que interceda uma causa suplementar, essa coisa
tem certo estatuto ou qualidades. Ora, ou por causa do peca-
do original ou por razões ligadas à conveniência da vida em
sociedade, o direito humano criara a escravatura, tomando
uns homens “coisas” de outros142 ,143 .
Em segundo lugar, porque certas coisas (como as obri-
gações que correspondem a certos direitos sobre coisas, v. g.,
prestações ou deveres feudais ou jurisdicionais) são constitu-
ídas por factos pessoais, por concretas acções humanas144 .
Na mundividência da época, os homens e as mulhe-
res, os restantes seres vivos e os seres inanimados integra-
vam-se diferentemente na ordem da Criação. Cada qual
tinha aí um lugar e, decerto, o lugar do homem era mais
nobre do que o das restantes criaturas. Mas, vistas as coisas
de outro ponto de vista, o que existia era uma hierarquia
contínua, que ia dos anjos à mais humilde das pedras, e
que não permitia distinções qualitativas decisivas (como a
distinção radical entre pessoas e coisas), tanto mais que,
mesmo a máxima função de louvar a Deus, era desem-
142 Os teólogos dizem que esta “coisificação” dos homens só se dá secundum
corpus, pois a liberdade se mantém sempre secundum mentem (S. Tomás, Summa
theologica, 2-2, q. 104, 5c ad 2).
143 Alguns teólogos juristas consideram a escravatura, em certos casos, como um
instituto de direito natural, ligando-a a uma desigualdade natural dos ho-
mens, dos quais uns teriam engenho para mandar e outros, em contrapartida,
mais robustez física, para servir (cf., v. g., Soto, 1556, IV, 2, 2).
144 Hoje, há obrigações correspondentes aos direitos sobre as coisas (direitos
reais); mas estas consistem apenas na obrigação que todos têm de respeitar o
conjunto de direitos genéricos, erga omnes, do titular do direito real (a chamada
“obrigação passiva universal”).
73
livro_antonio_m_espanha.p65 73 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
penhada, de acordo com palavras das Escrituras, pelos líri-
os dos campos ou pelas pedras da calçada. Pessoas, ani-
mais, plantas e seres inanimados eram, em certo sentido,
todos criaturas, comandadas por uma ordem natural da
criação. Só a hipervalorização da capacidade humana de
entender e de se auto determinar, típica do racionalismo e
voluntarismo modernos, é que traçará fronteiras decisivas
entre o mundo dos homens e o mundo dos brutos.
Mas, para além desta equiparação de pessoas a coisas,
é certo que o direito comum “coisificou” muitas entidades
que não constituem realidades empíricas, dando aos direi-
tos sobre elas uma protecção que, quer o direito romano, quer
o direito contemporâneo, reservam para os direitos sobre
objectos materiais145 .
Esta especial protecção de que gozam os direitos reais
(i. e., os direitos sobre as coisas) consiste, nomeadamente, em
se permitir a sua reivindicação judicial em relação a qual-
quer pessoa (a restituição da coisa objecto de um direito real
ao titular deste direito é devida por todos); o reivindicante
não tem que provar qualquer obrigação especial de restituir
a cargo do detentor, porque a obrigação que recai sobre este
é geral e comum em relação a toda e qualquer pessoa. É isto
que quer dizer a oposição, estabelecida pelos canonistas, en-
tre um ius in re (um direito sobre a coisa) e um ius ad rem (um
direito à coisa), pois este último é relativo a certa pessoa (de-
145 Em todo o caso, o direito actual protege, como direito real, direitos sobre bens
imateriais (v. g. propriedade intelectual).
74
livro_antonio_m_espanha.p65 74 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
vedor), que, por um vínculo jurídico especial (v. g., um con-
trato), está obrigado a entregá-la a alguém (credor). Outra
manifestação desta especial protecção que o direito concede
às “situações reais” é a eficácia da defesa da posse de uma
coisa, ou seja, a energia com que o direito defende o uso ma-
terial de uma coisa pelo seu detentor estável e contínuo, usan-
do de meios muito eficazes contra qualquer esbulho, violento
ou não, obrigando o esbulhador a restituir (restitutiones in
integrum) e a abster-se de qualquer perturbação da posse,
enquanto não demonstrar a sua própria legitimidade para
querer usar da coisa (interdicta)146 (9).
Ora o direito comum alargou muito esta possibilidade
de defesa de direitos. Atribuiu-a, como já o fazia o direito
romano, aos proprietários e usufrutuários. Mas autorizou
também titulares de outros direitos a usarem da reivindica-
ção e a protegerem provisoriamente as suas posses com os
remédios possessórios (restitutiones e interdicta) a que já nos
referimos. Assim, considerou como coisas, susceptíveis, por-
tanto, de ser objecto de um direito real147 : (i) os direitos po-
líticos (ou iurisdictio, regalia, direitos feudais, direitos tribu-
tários); (ii) os benefícios e ofícios; (iii) o direito de eleger,
nomear ou apresentar (um magistrado, um beneficiado ou
um oficial). Tudo isto equivaleu a conceber, ao lado de di-
reitos reais sobre coisas (como na propriedade ou no usu-
146 Sobre os meios de defesa próprios do direito real no período do direito co-
mum, v. Coing, 1985, I, 341 ss.
147 V. Coing, 1985, 342 ss.
75
livro_antonio_m_espanha.p65 75 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
fruto), direitos reais sobre direitos (como, por exemplo, no
caso de um direito banal)148 .
Ou seja, a generalidade das prerrogativas políticas (po-
deres de mando, de tributação, de nomeação de oficiais) era
considerada como bens in patrimonio. Daí que tivessem um
regime semelhante aos bens patrimoniais em sentido mais
estrito (ou seja, às coisas materiais), podendo ser vendidas,
trocadas e, sobretudo, reivindicadas e defendidas de esbulhos
com auxílio dos remédios possessórios. A eficácia destes mei-
os de defesa era enorme; o que muito contribuiu para garan-
tir o pluralismo de direitos típico da sociedade de Antigo
Regime, pois qualquer titular de direitos políticos podia facil-
mente garanti-los, quer contra os vassalos, quer contra os
concorrentes ou mesmo contra os suseranos.
É isto que, a meu ver, permite caracterizar adequada-
mente o sistema jurídico-político como um “Estado de direi-
tos” (Rechtsbewährungsstaat). De facto, os direitos de resis-
tência dos particulares em relação ao príncipe configuram-
se como direitos de carácter privado, accionáveis perante os
tribunais comuns. Mas, para além disso, as pretensões dos
súbditos em relação ao príncipe são verdadeiros direitos do-
tados de tutela contenciosa, e não apenas meras súplicas,
deixadas ao arbítrio da graça do monarca, nem direitos polí-
148 Como, neste último caso, não existe um substrato material sobre que o direito
real se exerça, a posse é feita equivaler a um uso longo do direito sobre que ela
incide; cf. Coing, 1985, I, 343.
76
livro_antonio_m_espanha.p65 76 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
ticos, accionáveis por meios “políticos”, mas desprovidos de
uma suficiente garantia no plano da jurisdição comum.
3.2 As situações reais
3.2.1 São mais as utilidades do que as coisas
O pensamento jurídico dos grandes mestres do direito
comum estava dominado pela ideia de uma grande ordem
universal, da qual faziam parte homens e coisas, cooperan-
do uns e outros, de acordo com as respectivas naturezas,
numa estrutura finalista orientada para o bem comum. Nes-
ta ordem, tudo tinha uma função, uma utilidade. As coisas
tinham-nas também. E estas funções encaixavam-se umas nas
outras, serviam-se mutuamente, numa hierarquia de bens,
terrenos ou sobrenaturais, que se rematava no sumo bem so-
brenatural que era o louvor de Deus.
A esta ordem natural das utilidades (utilidades de pes-
soas, utilidades de corpos, utilidades de coisas) correspondia,
da parte dos beneficiários dessas utilidades, uma ordem de
“necessidades” (affectiones, amores) que criava nos usuários
uma inclinação para as disfrutar. Se essas inclinações eram
conformes à razão mereciam o reconhecimento do direito. A
estes “desejos racionais”, a estas faculdades legítimas de gozo,
chamava o direito domínio. O domínio era, portanto, “o po-
der ou a faculdade reconhecido a alguém de se apoderar das
coisas, pondo-as à sua disposição e uso lícito, segundo as leis
estabelecidas conforme à razão” (cf. De Soto, 1556, IV, 1, 1
77
livro_antonio_m_espanha.p65 77 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
[280]). As situações reais reconhecidas e protegidas pelo di-
reito reproduziam, assim, a ordem das utilidades e os estí-
mulos de gozo que esta ordem despertava nos sujeitos.
Como diz Paolo Grossi, a imagem jurídica das rela-
ções entre homens e coisas era dominada por uma
Atracção do sujeito por parte do mundo das coisas e um
consequente, e muito relevante, condicionamento do sujeito por
parte das coisas até ao ponto de fazer emergir a coisa, de qual-
quer modo, como protagonista inexpresso do ordenamento...
Como no primitivismo medieval, o homem desaparecia absor-
vido por uma rerum natura plena de energias vitais.149
Neste universo ordenado das necessidades e das uti-
lidades, as coisas não eram essencialmente diferentes das
pessoas. Algumas coisas necessitavam de outras (v. g., os ani-
mais do pasto), algumas pessoas necessitavam de outras (v. g.,
o senhor dos vassalos), algumas coisas necessitavam de pesso-
as (v. g., a terras, dos servos adscritícios) e, muito geralmente,
as pessoas necessitavam de coisas. A esta cadeia das necessi-
dades correspondia, em negativo, uma cadeia das utilidades.
Daí que o conceito de domínio, como faculdade de uso, fosse
muito geral, abrangendo tanto vários direitos de gozo sobre
coisas (propriedade, usufruto, hipoteca, servidões, etc.), como
direitos sobre pessoas (nomeadamente a jurisdição). O pró-
prio poder de Deus sobre o mundo podia ser configurado como
domínio: ou Deus não fosse o Dominus mundi.
149 Grossi, 1992, 161.
78
livro_antonio_m_espanha.p65 78 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Domingo de Soto dá conta desta potencial universali-
dade do conceito de domínio150 :
Pode, efectivamente, alegar-se que, a seu modo, também os ani-
mais brutos têm domínio, por exemplo, sobre a erva, que lhes foi
concedida para seu sustento, como se lê no Génesis. E até parece
que a rainha das abelhas tem domínio sobre o seu enxame; e
entre as gralhas, parece que a rainha das demais dirige o ban-
do. E entre as feras parece que é o ferocíssimo leão que domina
sobre as demais; e o gavião parece que exerce o seu domínio
sobre as infelizes aves. Em segundo lugar, outro tanto se pode
dizer das coisas inanimadas, as quais têm o domínio sobre este
mundo sublunar, derramando sobre ele o calor e a energia
(virtus) de que este se sustém e desenvolve [...]. E por isto se lê no
Génesis, I, que o Sol foi criado para que presida ao dia e a Lua
para presidir à noite (Soto, 1556, IV, 1,2, [p. 283]).
É desta pluralidade de domínios que dá conta a litera-
tura do direito comum clássico. Baldo de Ubaldis, o célebre
jurista perugino do século XIV escreve:
Um é o domínio que se diz propriedade e este é o domínio directo.
Outro é o domínio que se diz útil e este não é, a bem dizer,
propriedade, antes estando sujeito à propriedade, ou porque
lhe é subalterna, como no caso do domínio de hipoteca, ou o
contraria, como no caso do domínio do prescribente. Ainda se
fala, de forma mais lata, de domínio, a propósito do domínio de
usufruto ou do domínio de qualquer servidão. Também os que
têm superioridade sobre os súbditos se chamam – domini – [se-
nhores], devendo este vocábulo ser entendido, quando ocorre,
segundo a qualidade da pessoa151 .
150 Embora para a criticar.
151 Baldo, ad I. proprietatis, C. de probationibus, n. 1 [C., 4, 19,4], em Baldo de
Ubaldis, in quartum et quintum Cadieis libras cammentaria, cit. por Grossi, 1992, 96.
79
livro_antonio_m_espanha.p65 79 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Esta última frase inclui, entre as modalidades de domí-
nio, a própria jurisdição, ou seja, o poder político; era daqui
que decorria a dificuldade de distinguir o público do priva-
do, os direitos dominiais dos direitos senhoriais, que caracte-
riza a ordem jurídica de Antigo Regime(10).
Mas o domínio não era apenas uma figura tenden-
cialmente universal, mas ainda naturalmente multiforme. Na
verdade, cada coisa tinha as suas formas naturais de ser usa-
da, as suas utilidades, e a cada uma destas correspondia uma
faculdade de apropriação dela pelos homens, um “domínio”
potencial. Esta cosmovisão levava, portanto, à admissão de
tantas formas de domínio – eventualmente repartidas por tan-
tos sujeitos – quantas as faculdades de gozo das coisas. E, de
facto, os juristas medievais começaram a distinguir tipos de
domínios, correspondentes a tipos de uso das coisas, chegan-
do a enumerar vinte e três, desde os domínios que tutelavam
usos dirigidos a fins sobrenaturais (v. g., o domínio “beatí-
fico”, “gratífico”, “evangélico”) até aos que correspondiam
às várias utilidades temporais (domínio “directo”, “útil”, “feu-
dal”, “usufruto”, “uso”, “hipoteca”, “servidão”, etc.). Rigo-
rosamente, o domínio, como modelo de relação do homem
com coisas, não tinha como objecto a coisa, mas uma sua
utilidade. O domínio não era a coisa, mas a (pluriforme)
relação de uso com ela152 .
152 Soto, 1556, IV, 1, 1 [280].
80
livro_antonio_m_espanha.p65 80 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Entre as várias modalidades de domínio não existe, se-
quer, uma hierarquia, pois todos os usos das coisas e as utili-
dades delas colhidas se encaixam, cada qual à sua maneira,
na ordem do universo. Propriedade eminente, direito de usu-
fruto, usufruto limitado, tudo são formas de domínio, cada
qual correspondendo a uma utilidade específica e, no seu
âmbito (i. e., no plano do gozo dessa utilidade), plena e
autónoma. Na perspectiva do gozo das respectivas utilida-
des da coisa, tanto o senhor directo como o enfiteuta dis-
põem plenamente da coisa153 .
Se alguma hierarquia existe entre os vários direitos que
coexistam sobre a mesma coisa, ela não decorre senão da hie-
rarquia das utilidades que cada direito garante. E, aqui, é cla-
ro que a seriação há-de corresponder a uma hierarquia co-
nhecida: as finalidades espirituais hão-de sobrepor-se às me-
ramente temporais; de entre estas, as utilidades que interes-
sam ao bem comum hão-de ter a primazia sobre as meras
utilidades particulares, segundo uma ordem que vai do mais
comum ao mais particular (república, cidade, corporação, fa-
mília). Assim, os gozos meramente pessoais hão-de ceder, pri-
meiro, perante os interesses temporais comuns e, juntamente
com estes, perante os interesses sobrenaturais. Este paralelismo
entre a hierarquia das utilidades e a hierarquia dos domínios
faz com que uma corrente “integrista” ligue a protecção jurí-
dica do domínio a factores de ordem sobrenatural, como a
153 Grossi, 1992, 103.
81
livro_antonio_m_espanha.p65 81 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
graça e o pecado. Assim, aqueles que estivessem em estado de
graça teriam um domínio sobre as coisas alheias, a fim de po-
derem prosseguir as suas finalidades gratificantes154 . Em
contrapartida, ao pecador ou infiel, que visava utilidades con-
trárias à ordem da salvação, seria negado o domínio sobre as
próprias coisas, de que poderia ser despojado, pois o domínio
só seria plenamente válido se se orientasse para a salvação.
Foi a partir de considerações deste género que se defendeu a
legitimidade da ocupação das terras dos povos infiéis ou pa-
gãos na época da expansão europeia155 .
A identificação do domínio com os vários usos das coi-
sas criou, porém, problemas politicamente delicados quan-
do, nos séculos XIII e XIV, se discutiu o alcance do voto de
pobreza das ordens mendicantes (dominicanos e francis-
canos). O que queria dizer o voto de “não possuir bens”?
Concretamente, se usar dos bens, se desfrutar das suas utili-
dades, era ser dono, (dominus) então os franciscanos e os
dominicanos eram donos de muitas coisas, nomeadamente
das coisas consumíveis, i. e., daquelas que se consumiam com
o uso, como a comida ou o dinheiro. Nestes casos, dizia-se
desde S. Tomás (Summa th., 2-2, q. 78, a. 1), que o domínio
não ápenas se confunde com o uso, mas que ambos são, para
além disso, inseparáveis. Sob o impulso desta polémica, que
154 A apropriação das coisas alheias seria um acto caritativo, em benefício (espi-
ritual) dos próprios espoliados.
155 A Segunda Escolástica (nomeadamente, Domingo de Soto) nega, porém
esta conclusão, legitimando, com base no direito natural, a propriedade que
os povos “encontrados” tinham sobre as suas terras e coisas (Soto, 1556, IV,
2, 1 [287]).
82
livro_antonio_m_espanha.p65 82 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
atingiu proporções político-eclesiásticas extremas156 , surge a
ideia de que o verdadeiro domínio não consistiria num uso
fáctico, material, das coisas, mas antes numa disposição
meramente subjectiva. Como escreve P. Grossi,
O homem é proprietário, não porque tenha concretamente coi-
sas na sua posse, mas porque quer ser proprietário delas, por-
que tem em relação a elas uma vontade apropriativa; aquele que
não tem nada (nihil habens) pode ser dono de tudo (omnibus
dominans) se se lhe subtrair a vontade adequada157 .
3.2.2 O modelo proprietário
Esta subtileza permitia resolver, como logo se vê, o
problema da pobreza dos franciscanos, mas teria também
consequências profundíssimas no destino futuro do discur-
so sobre os homens e as coisas, da sua regulamentação jurí-
dica e das medidas políticas tomadas acerca disso. Enfim, o
que se prenuncia a partir de agora – embora a evolução
ainda vá levar muitos séculos a consumar-se – é uma con-
cepção do domínio como afirmação de uma vontade dos
sujeitos sobre as coisas.
Na raiz desta nova concepção do domínio está a defi-
nição do homem como ser livre e senhor dos seus actos158 ,
que necessita de se projectar no mundo externo das coisas
156 Sobre o tema, v. Grossi, 1992, maxime, 150 ss. (com outras referências
bibliográficas).
157 Grossi, 1992, 156.
158 Cf., sobre isto, Grossi, 1973.
83
livro_antonio_m_espanha.p65 83 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
para realizar essa liberdade e cumprir o seu destino cósmico
(“ (...) os homens, pela sua própria natureza e direito, come-
çaram a ser donos das suas acções para, com esta liberdade,
servirem o Criador”, Soto). Assim, o domínio sobre as coi-
sas aparece como um prolongamento do domínio sobre si
próprio, o ter torna-se num mero acto de vontade do sujei-
to que se afirma como dono de uma coisa(11), a proprieda-
de é um outro nome da liberdade, desse poder expansivo
de afirmação subjectiva159 . O domínio adquire uma dimen-
são puramente subjectiva, escapando completamente ao im-
pério das coisas. Estas, as suas utilidades concretas e as mo-
dalidades concretas do seu gozo, não influem em nada a
natureza do domínio, que passa a ser uma faculdade pura-
mente subjectiva de gozo abstracto. Quem diz “abstracto”,
diz tendencialmente ilimitado. Nesta concepção, falar de um
direito de propriedade é falar do complexo virtual de todas
as utilidades de uma coisa e dos poderes de uso correspon-
dentes; é falar da síntese de todos os poderes que, em abstracto,
um sujeito pode exercer sobre as coisas em geral160 .
Esta corrente intelectual será desenvolvida pela
escolástica franciscana dos finais da Idade Média. pela Esco-
la Peninsular de Direito Natural (Segunda Escolástica) e, final-
mente, culminará na concepção individualista da proprie-
159 “O domínio das coisas externas não se justifica senão pela razão de que cada
um é dono das suas próprias acções; é que o domínio que cada um tem dos
seus actos é a causa e a raiz daquele que tem sobre as outras coisas”, Soto.
160 Grossi, 1976, I, 200 ss.
84
livro_antonio_m_espanha.p65 84 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
dade das escolas jus-racionalistas do século XVIII. As suas
principais consequências, no plano dogmático, são:
a) Relacionar intimamente o domínio com a vontade. A pro-
priedade, tal como a liberdade, são as duas primeiras mani-
festações da tendência natural dos indivíduos para se
autodeterminarem, para quererem161 . E, por isso, constitu-
em os seus primeiros direitos naturais, com dignidade natu-
ral e fundamento teológico, pois esta vontade fundadora não
é senão um reflexo da vontade e da sapiência de Deus162 .
b) Definir o domínio como um direito tendencialmente ab-
soluto; ou seja, um direito que, por natureza (a natureza
de uma vontade que não suporta limites), tende a abran-
ger todos os usos possíveis das coisas. Tal como a sobera-
nia, o domínio é absoluto e indivisível. Acontecerá que não
se possa, em relação a certa coisa, gozar dela ilimitada-
mente, por existirem limites externos; mas, então, estamos
perante um domínio “imperfeito” que, desaparecendo os
limites externos163 ao seu exercício, ocupará naturalmente
os novos espaços, tendendo para a perfeição (“elasticida-
de” do domínio). A ideia de uma multiplicidade de domí-
nios, compreendendo cada qual apenas algumas faculda-
161 Daí que só possam ser sujeitos de domínio os seres dotados de entendimento
e livre arbítrio; o que exclui que se possa falar de propriedade na titularidade
de coisas ou de animais, como antes se admitia (cf. Sotto, 1556, 284).
162 Grossi, 1992, 169.
163 Nomeadamente, direitos concorrentes de outrem, como uma servidão ou um
usufruto.
85
livro_antonio_m_espanha.p65 85 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
des de utilização da coisa, parece agora como algo de não
natural ou logicamente absurdo164 .
c) Definir o domínio como um poder essencialmente pri-
vado; ou seja, originado na vontade individual, em sa-
tisfação de impulsos também individuais e, por isso, sa-
tisfazendo interesses meramente privados. Enquanto o
poder público, a jurisdição, emanava, directa ou indi-
rectamente, de uma vontade colectiva e visava satisfa-
zer interesses públicos.
Este último imaginário das situações reais, que tem sido
designado como modelo “proprietário”, elaborado a par-
tir do século XIV pela escolástica franciscana, pelo pensa-
mento da Segunda Escolástica (Luis de Molina [1536-
1600], Domingo de Soto [1494-1570], Francisco Suarez
[1548-1617]) e pelas escolas jus-racionalistas culmina nas
grandes codificações liberais dos inícios do século XIX.
O artigo 544 do Code civil de 1804, um dos monumentos
do modelo actual de conceber as situações reais, define a
propriedade como “o direito de gozar e dispor das coisas
da forma mais absoluta, desde que não se faça delas um
uso proibido pelas leis ou pelos regulamentos”. Este texto
constitui um emblema do conceito moderno (individua-
lista, burguês, capitalista) da propriedade, sobretudo por-
que nele se costuma destacar o carácter absoluto e pleno
164 “Undinge”, absurdo, é como Thibaut (em 1817) classificará a ideia de um
domínio dividido (cf. P. Grossi, “Tradizione e modelli nella sistemazione post-
unitaria della proprietà” (cf. Grossi, 1973), 201 ss).
86
livro_antonio_m_espanha.p65 86 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
dos poderes do proprietário. Na época em que esta máxi-
ma foi cunhada, as suas palavras não tinham ainda as
intenções que depois vieram a adquirir. Assim, o termo
“absoluto” não apontava para a autorização de “um qual-
quer, arbitrário, a-social, uso das coisas”, típico de uma
concepção liberal, pura e dura, da propriedade. Visava
antes negar a existência de qualquer direito eminente, feu-
dal ou estadual, que limitasse os poderes do proprietá-
rio(12). Mas, logo no início do século XIX, a doutrina jurí-
dica francesa transforma esta definição num dos dogmas
do liberalismo, colocando-a ao lado da divisa de J.
Bentham, liberty and property, no topo da ideologia “pro-
prietária” ou “individualismo possessivo”165 .
Este modelo “proprietário” apresenta os seguintes tra-
ços estruturais:
a) A propriedade é um direito natural, anterior à ordem
jurídica positiva, decorrente da própria natureza do
homem como ser que necessita de se projectar exteri-
ormente nas coisas para se realizar. Alguns autores vão
mesmo ao ponto de colocar a propriedade como origem
do direito, direito cujo objectivo não seria senão distin-
165 A expressão é de C.B. Macpherson (Property, mainstream and critical positions,
Toronto, 1978). Eco da divisa de J. Bentham, em Portugal, Costa, 1822,73,96 ss.
87
livro_antonio_m_espanha.p65 87 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
guir “o meu e o teu”166 . E, na verdade, o pórtico de algu-
mas das mais características exposições do direito civil de
então é constituído pela enunciação de umas quantas “re-
gras de trânsito” gerais dos direitos (dos “meus” e dos
“teus”) dos indivíduos(13).
b) A propriedade é um direito absoluto, no sentido (que
era o originário do Code) de que não está sujeita a limi-
tes externos, pelo que o seu exercício não depende de
condicionamentos ou autorizações externas. No momen-
to em que foi introduzida no Code civil, esta referência ao
carácter absoluto da propriedade implicava a abolição de
uma série de ónus, fiscais, feudais ou comunitários, que
impendiam sobre a terra. Mas iria também justificar a
antipatia por todas as formas de limitação ou condicio-
namento da liberdade de dispor exclusivamente das coi-
sas, anteriormente conhecidas, quer de natureza privada
(v. g., as formas de comunhão e de indivisão, os vínculos,
a necessidade de autorização ou outorga para alienar, os
direitos de preferência, os laudémios), quer de natureza
pública (v. g., os regimes de licenciamento administrativo
da transmissão ou oneração do solo, os condicionamen-
tos públicos da venda, como os monopólios ou estancos,
os regimes de amortização, etc.). Propriedade absoluta é,
166 Costa, 1822, loc. cit.. Como aí se pode ver, o conceito de propriedade é
utilizado para descrever todas as relações jurídicas: a liberdade pessoal é a
propriedade sobre o próprio corpo, a liberdade intelectual é a propriedade
sobre o pensamento, etc.
88
livro_antonio_m_espanha.p65 88 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
assim, a propriedade não partilhada, aquela que não re-
conhece qualquer dominium eminens ou directum exterior.
É a propriedade franca, que obedece à regra natural da
“liberdade natural da propriedade”(14).
c) A propriedade é um direito pleno, ou seja, contém em si
todas as faculdades de acção que o seu titular pode de-
senvolver em relação à coisa, incluindo a sua destruição
económica ou física. Isto significa, em primeiro lugar, que
o direito de propriedade não se destina a garantir a funci-
onalidade económica das coisas, não visa reflectir, no cam-
po do direito, as utilidades possíveis das coisas, antes pos-
sibilitando exercícios a-funcionais, como o não cultivo de
uma terra ou a destruição de uma coisa(15).
d) A propriedade é um direito tendencialmente perpétuo,
daí decorrendo a tendência para o desfavor das formas
temporalmente limitadas de domínio (fideicomissos,
enfiteuses em vidas, cláusulas de retroacção) e a promo-
ção da propriedade perpétua167 .
e) A propriedade é, finalmente, um direito essencialmen-
te privado, não devendo, portanto, co-envolver direitos
de carácter público, como acontecera na constituição
fundiária e política do Antigo Regime. Estes competiam
– como vinha dizendo a doutrina desde Francisco Suarez
(De legibus, I, 8 4 ss.) – à iurisdictio e não ao dominium;
167 Rocha, 1848, 319 (§ 402), 709 e 716.
89
livro_antonio_m_espanha.p65 89 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
enquanto faculdades dos particulares, seriam abusivos
e deviam ser abolidos168 .
Ainda no século XVIII, o “modelo proprietário” apare-
ce já bem delineado na obra de Pascoal de Melo. Aí o domí-
nio é já apenas um, ou seja, o direito ilimitado e exclusivo de
gozar de todas as utilidades da coisa: “o domínio é um certo
direito sobre as coisas, pelo qual entendemos o direito de dis-
por livremente da coisa, extraindo dela todas as utilidades,
excluindo o uso dela por outros e reivindicando-a em relação
a qualquer um (Pascoal de Melo, 1789, III, 2, 1).” É certo que
há direitos reais com poderes mais limitados, por lei ou por
convenção (servidões, usufrutos, enfiteuses), por isso se fala
de domínio pleno ou menos pleno (como mais tarde se falará
de propriedade perfeita e imperfeita) (ibid, IV, 2, 4). Mas o
pleno domínio, o domínio exemplar, comporta todos os po-
deres de fruição e de exclusão da fruição de outrem.
168 Correia Teles (Teles, 1835, I, § 741) ainda inclui no direito de propriedade os
direitos de jurisdição. Mas as servidões pessoais (personae servir rei) tinham
sido ou estavam a ser abolidas: a servidão doméstica, fora-o em 1771 (alvs.
16.1 e 19.9, completados pelos de 16.1.1773 e 10.3.1800); as servidões pessoais
a favor de prédios foram abolidas como direitos banais pela lei de 24.7.1846
(retomando a sua extinção em 1824). Cf. Rocha, 1848, §§ 524 e 587; Lobão,
1828, 437, 442-443.
90
livro_antonio_m_espanha.p65 90 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
3.3 Os dados do direito (séculos XVI-XVIII)
3.3.1 Direito comum
A sociedade da Europa ocidental conhecia, desde a
Idade Média, uma série enorme de situações jurídicas re-
ais, estando os poderes sobre as coisas decalcados sobre
as suas utilidades particulares, distribuídos por vários su-
jeitos, mutuamente condicionados, dependentes na sua
efectivação e exercício de autorização alheia. Nesta estru-
tura institucional, a propriedade plena era a excepção, sen-
do a regra constituída pelas situações de domínios divididos
ou imperfeitos, como as situações enfitêuticas, parciárias,
censíticas, vinculares, de arrendamentos longos, de usufru-
to, de servidão predial. O direito, apoiado na opinião comum
dos juristas do direito comum, nomeadamente de Bártolo,
perfilhava a concepção atomista e dividida do domínio. A
manifestação mais célebre desta concepção era a construção
do feudo e da enfiteuse como um domínio dividido, compe-
tindo ao senhor o dominium directum (o domínio de direito,
protegido por uma acção de direito) e ao feudatário ou
enfiteuta o dominium utile (o domínio da utilidade, do gozo
das utilidades práticas da coisa, protegido por uma actio
utilis)(16). Apesar de alguns autores referirem que, em senti-
do próprio, a designação “domínio” apenas convém à pro-
priedade plena(17), a generalidade alarga o conceito de do-
mínio a uma ampla série de situações reais, concedendo ao
usufrutuário, ao colono ou arrendatário de longo prazo, ao
censuário, ao feudatário, ao enfiteuta, a dignidade de verus
91
livro_antonio_m_espanha.p65 91 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
dominus e as faculdades jurídicas práticas que lhe andavam
ligadas, nomeadamente o recurso à reivindicação, a dispen-
sa de prestar garantia no momento de entrar na posse da
coisa, a participação no tesouro achado no prédio, a
protecção da posse com os remédios possessórios(18)169 .
Limitando a nossa descrição à propriedade da terra,
eram as seguintes as situações reais mais comuns em Portu-
gal, na Época Moderna:
a) Terras nobres (coutos, honras, behetrias e outras terras
em que os senhores exercem prerrogativas senhoriais)170 .
São terras isentas (total ou parcialmente) em relação aos
poderes jurisdicionais ou tributários da coroa, em que, em
contrapartida, o senhor cobra os tributos contidos no foral
da terra (salvo aqueles que o rei expressamente tenha re-
servado para si na carta de doação). O domínio que com-
pete ao senhor é um domínio feudal; ao rei, competiria
sempre um domínio eminente171 ; aos cultivadores, um
domínio directo, no caso de serem proprietários, ou um
domínio útil, no caso de serem, por exemplo, foreiros (ou
colonos de longo tempo, ou censuários).
169 Pascoal de Melo ainda admite a generalidade destes domínios, embora os
designe de um modo (dominium plenum, dominium minus plenum; verum
dominium, dominium minus amplum) que já os hierarquiza e confronta com o
modelo do domínio pleno (cf. Melo, III, 9,28). Mas já nega a natureza dominial
do direito a serviços (servidão pessoal); cf. m, 13, 4). Evolução ulterior em
Hespanha, 1979,50 ss.
170 V., infra, capo IV.4. (“Os senhorios” ).
171 Que o autorizaria, nomeadamente, a revogar as doações, reavendo as terras;
a expropriar ou requisitar os bens; ou a impor-lhes tributos reais.
92
livro_antonio_m_espanha.p65 92 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
b) Terras vilãs. De entre as terras não nobres, os autores
distinguiam entre terras alodiais e concessões precárias.
Na primeira categoria estão as terras detidas hereditaria-
mente e como alódios, apenas obrigadas a prestações tri-
butárias ou eclesiástica (dízima). Nos documentos apare-
cem designadas por herdades, terras “de voz e coima”,
terras de “dízima a Deus”. Na segunda categoria estão as
terras detidas em precário (vitalícias ou temporárias), su-
jeitas ao pagamento de rendas172 e cuja alienação estava
dependente da autorização do senhor173 . São as terras
em colonia, em prazo (ou enfiteuse) ou em censo. Nestes
casos, o domínio aparecia como dividido: ao titular do
direito à renda (foro, censo) competia o domínio directo,
enquanto ao cultivador (colono, enfiteuta, foreiro,
censuário) competia o domínio útil.
Dada a sua importância, vejamos mais detalhadamente
o que era cada dos mais importantes destes institutos, no-
meadamente a enfiteuse e o censo.
A enfiteuse (ou emprazamento) verifica-se quando o pro-
prietário (senhorio) de um bem imóvel (prazo) transfe-
re o domínio útil para outrem (enfiteuta), que se obriga
a pagar-lhe anualmente uma certa pensão, cânone ou
foro. Até ao Código Civil de 1867, os prazos podiam ser
perpétuos ou temporários. Os perpétuos chamavam-se
172 De quantia fixa ou parciárias, em dinheiro ou em géneros.
173 Esta autorização podia ser comprada, pelo pagamento ao senhor de uma
soma na altura da alienação (laudémio).
93
livro_antonio_m_espanha.p65 93 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
“fateusins hereditários”. Os temporários ou “de vidas”
eram constituídos por um certo número de vidas (nor-
malmente, três)174 .
O censo podia ser de dois tipos. O censo consignativo era
o instituto pelo qual alguém empresta a outrem certa
soma, para sempre, obrigando-se este último a pagar
uma certa quantia anual, consignando a este pagamen-
to os rendimentos de certos bens imóveis. O censo
reservativo verificava-se quando alguém cedia a outrem
um bem imóvel, reservando uma certa renda, a pagar
pelos rendimentos do imóvel cedido175 .
Todas estas figuras dogmáticas são originárias do direito
comum, tendo sido frequentemente aplicado a situações
reais já estabelecidas, muitas vezes na Alta Idade Média,
ao sabor das circunstâncias de cada caso. Daí as incerte-
zas classificativas com que se debate a prática para en-
contrar a figura adequada (e, logo, o regime jurídico apli-
cável) a cada situação176 .
c) Terras públicas e comuns. Tratava-se de terras apro-
priadas ou pelo rei ou colectivamente pela comunidade e
destinadas ao uso ou do monarca ou do comum. As prin-
174 Os prazos perpétuos ou em vidas ainda podiam ser “de livre nomeação”, em
que cada enfiteuta designava o seguinte, ou “de pacto e providência”, em que
toda a linha de sucessão era fixada no pacto de constituição da enfiteuse.
175 A distinção prática entre enfiteuse e censos (ou mesmo arrendamentos a longo
prazo) não eram simples. Sobre a distinção, v. o interessante texto de Baptista
Fragoso, por mim publicado em Gilissen, 1988, 659.
176 Sobre os critérios gerais utilizados para a classificação das situações, v.
Gilissen, 1988,650.
94
livro_antonio_m_espanha.p65 94 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
cipais eram os baldios, os matos maninhos, as lezírias e os
pauis e as minas e veios de metais. O seu uso individual
podia ser concedido pelo rei (no caso das lezírias, matos
maninhos e minas) ou pelos concelhos (no caso dos baldi-
os). Comum a todos e inapropriável individualmente era
o ar e o mar, bem como os rios navegáveis.
Sobre todas estas terras podiam impender limitações
de vária ordem. Desde logo, as limitações impostas pelo inte-
resse comum, como a obrigação de cultivo imposta pela “lei
das sesmarias”, ou as limitações impostas pelos direitos da
comunidade (direito aos pastos, à caça, ao mel, à caruma e
lenha, à água). Finalmente, limitações de tipo familiar. Des-
tas, a que se tomou mais relevante foi a da inalienabilidade e
obrigatoriedade de respeitar uma certa ordem sucessória,
estabelecida por um anterior proprietário. É o caso dos mor-
gados e das capelas. Mas podia existir ainda a obrigação de
consultar os parentes no caso de alienação de certos bens ou,
mesmo, de lhes dar preferência (laudatio parentum, direito de
troncalidade, retrato familiar).
3.3.2 O direito individualista
O desenvolvimento, no plano doutrinal, do modelo
proprietário vem apoiar todas as soluções de política (no-
meadamente, de política agrária) que tendem a fortalecer
uma propriedade absoluta e ilimitada.
Absoluta e ilimitada, desde logo, em relação ao Estado.
95
livro_antonio_m_espanha.p65 95 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
A questão dos poderes do príncipe sobre os bens dos
particulares era matéria controvertida, desde a Escola dos
Glosadores177 . A doutrina dominante, na Época Moderna,
era a de que o poder do rei sobre os bens súbditos configura-
va um dominium quoad administrationem178 domínio quanto à
administração; mas este direito seria de tal natureza que o
soberano não poderia ofender os direitos dos súbditos, quer
por decisão individual, quer por acto normativo genérico (cf.,
infra cap. IV.5.3.)179 , salva suma utilidade pública (salus et
utilitas publica)180 e, mesmo assim, com o dever de indemnizar.
Com o advento do Estado iluminista – dominado pela
intenção planificadora e providencialista – esta garantia dos
direitos dos particulares cede perante o pathos regulamen-
tador e interveniente da “boa polícia”, da ideia de discipli-
nar e ordenar a cidade. É por isso que a doutrina iluminista
vai ressuscitar a ideia de que cabe ao príncipe o domínio emi-
nente, pleno e universal sobre todo o reino e, logo, sobre os
bens dos súbditos181 , domínio do qual decorreria a legitimida-
de de restringir, intervindo causa pública, o direito de propri-
edade. E, de facto, muitas foram as restrições introduzidas pela
legislação económica e agrária iluminista(19).
177 Cf. Portugal, 1673, 1. 2, c. 11, ns. 27 ss.
178 Cf. Castro, 1622, l, c. 24, § 30 (ao rei caberia um “absolutum et universale
dominium” sobre todo o reino, adquirido por conquista, compatível, porém,
com o domínio dos vassalos); Portugal, 1673, 1. 2, c. 2, 27 ss. (o príncipe teria um
“jus superioritatis & jurisdictionis”; os particulares um “verum dominium” ).
179 Cf. Portugal, 1673, cit., n. 19; Pegas, 1669, t. 11, p. 597-508.
180 Cf. Portugal, 1673, 1. 2, c. 11, n. 26.
181 Cf. Pascoal de Melo, 1789, III, 2, 3 “o príncipe, como tem um domínio eminen-
te ou império (vocábulo que não gera tantas invejas) sobre os bens dos cida-
dãos [...]”); abonava-se em Ord. fil., III, 71,2.
96
livro_antonio_m_espanha.p65 96 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Em contrapartida, a doutrina política e jurídica liberal,
a que chamámos “modelo proprietário”, bem como a dou-
trina económica fisiocrática, são muito sensíveis à neces-
sidade de, no plano da política do direito, reagir contra o
intervencionismo estatal na esfera dos direitos dos parti-
culares e de, em consequência, recusar a ideia de um do-
mínio eminente, como o faz, ainda no século XVIII, António
Ribeiro dos Santos. Paralelamente, firma-se a opinião de que
quaisquer direitos de natureza pública exercidos por outrem
que não a coroa constituíam um “abuso” ou uma “usur-
pação”. Era o caso, nomeadamente, dos direitos de foral co-
brados pelos senhores (cf. infra, capo IVA.). Nos finais do
século XVIII e inícios do século XIX, as correntes reformistas,
interessadas, por razões políticas e ideológicas (cf. infra) na
“libertação da terra”, usam este argumento para justificar a
abolição (ou, pelo menos, redução) dos forais(20)182 . Na ver-
dade, o carácter fiscal das imposições neles contidas retira-
va-os da esfera do privado e apenas os tornava legítimos se
cobrados por entidades públicas e, mesmo assim, nos limites
do que fosse economicamente razoável (v. infra).
A propriedade devia ser absoluta e ilimitada, ainda,
em relação à própria comunidade, o que punha em causa cos-
tumes ancestrais de uso colectivo das terras, mesmo que pri-
vadas, para aproveitar os pastos, os restolhos, a lenha, a caça,
182 A C.R. de 7.3.1810 promete a supressão ou atenuação dos forais, como
compensação dos prejuízos que advinham do tratado comercial angloluso de
1810 (cf. Albert Silbert, Le probleme agraire portugais au temps des premieres Cortes
libérales, Paris, Gulbenkian, 1968, 23 n. 1; Hespanha, 1979,75 n. 79).
97
livro_antonio_m_espanha.p65 97 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
as colmeias, as águas fluentes. Ou em relação à comunidade
familiar que, em homenagem aos interesses linhagísticos, im-
punha restrições à alienação dos bens ou provocava a sua
amortização (como no caso dos morgados)(21).
Finalmente, a propriedade devia ser absoluta e ilimita-
da em relação aos outros particulares.
Isto implicava a restrição de todos os direitos de pro-
priedade impostos pelo interesse particular, como, nomea-
damente, as servidões a favor de prédios vizinhos. É este o
sentido da C. L. de 9.7.1773, que reage contra a pulveriza-
ção fundiária e a multiplicação das servidões, estabelecen-
do medidas de alienação compulsiva de propriedades encra-
vadas e de emparcelamento nas lezírias, olivais, vinhas e
marinhas, de limite à divisão dos prédios e de extinção das
servidões. Tudo isto porque, como se diz no preâmbulo da
carta de lei, o excessivo retalhamento da propriedade e a
sua limitação a favor dos prédios vizinhos constitui um es-
torvo à sua rentabilização.
Contrária à rentabilização da agricultura era ainda a
coexistência de direitos sobre o mesmo prédio. O caso mais
comum era o da enfiteuse, em que os direitos daquele que
explorava a terra (titular do domínio útil) estava duplamen-
te limitado. Em primeiro lugar, pela obrigatoriedade de pa-
gar um foro ao titular do domínio directo. Depois, pelo
carácter temporalmente limitado do seu direito de fruição.
Quanto ao pagamento pelo cultivador (senhor útil) de
uma prestação periódica ao titular da sua propriedade (se-
98
livro_antonio_m_espanha.p65 98 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
nhor directo), nota-se, nos finais do século XVIII, uma ten-
dência para, em nome da rentabilização da agricultura, pro-
curar reduzir os encargos sobre a terra. Neste ponto, a legis-
lação pombalina foi muito prudente. Apenas em relação aos
censos do Algarve, em que havia uma tradição usurária, se
tomam medidas tendentes ao alívio das terras(22). Quanto à
enfiteuse, apenas se retoma a doutrina da “lesão enorme”,
que anulava qualquer contrato em que uma das prestações
fosse desequilibrada (v. Ord. fil., IV, 13). No caso da enfiteuse,
quando tivesse por objecto terras incultas, seria lesivo o con-
trato que estabelecesse um foro próximo do rendimento real
do prédio(23). Determinações mais genéricas sobre a redu-
ção dos encargos fundiários só surgem no reinado de D. Maria
I. Assim, o decreto 16.3.1799 (cf. aviso de 4.4.1799) autoriza
excepcionalmente, em benefício da agricultura, a remissão
dos foros e das jugadas pertencentes à coroa. O mesmo de-
terminam os decretos de 21.11.1812 e de 6.4.1813. Em rela-
ção a rendas devidas a particulares, as cautelas foram tantas
que um projecto aprovado pelo ministério em 28.3.1799, pre-
vendo a remissão de encargos pios, foros, censos, quartos e
oitavos e outros quaisquer encargos pagos à Igreja ou a
corporações de mão-morta, nunca entrou em vigor(24)183 .
183 No mesmo sentido da limitação dos encargos fundiários militava a teoria do
“produto líquido”, que defendia que o cálculo das prestações parciárias devia
ser feito sobre o produto, depois de deduzi das as despesas de cultivo (cf.
Pascoal de Melo, l, 7, 15; Manuel de Almeida e Sousa, Discurso sobre a reforma
dos forais, §27; Manuel Femandes Tomás, Observações sobre o discurso [...], 70;
sobre o tema, Hespanha, 1979,37).
99
livro_antonio_m_espanha.p65 99 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Quanto à limitação temporal dos direitos do enfiteuta,
decorrente do carácter temporário de muitos contratos
enfitêuticos (em vidas, frequentemente em três), a nova dou-
trina do domínio pleno e absoluto cria um paradoxo até aí
inexistente. Na verdade, o direito comum, com base numa
opinião de Bártolo(25), forçava o senhor directo a renovar a
enfiteuse. Isto assegurava, na prática, a perpetuidade dos di-
reitos de gozo do senhorio útil e, por isso, dava-lhe segurança
para poder melhorar o prédio sem ter que recear que este lhe
fosse tirado antes de ter tido tempo para amortizar as despe-
sas feitas. Todavia, isto constituía uma violação do princípio
da liberdade, já que o senhor directo via coarctada a sua liber-
dade de não renovar o contrato no fim do seu termo. Os juris-
tas hesitam. Uns, mantendo-se fiéis ao princípio da liberdade,
criticam a “equidade bartolina”(26); outros optam por uma
solução casuística184 ; outros, finalmente, mantêm-se fiéis à
opinião de Bártolo no sentido da renovação, fundando-a no
direito natural do eufiteuta e seus descendentes a colher os
frutos do trabalho e dinheiro investidos no prédio185 . Mas a
legislação pombalina, pela C. L. 7.9.1759, estabelece a reno-
vação do contrato enfitêutico a favor dos descendentes, as-
cendentes e colaterais, com fundamento nas Ordenações (Ord.
man., IV, 36) e no direito natural (cf. lei cit., § 26)186 .
184 Cf. Manuel de Almeida e Sousa, Tratado pratico de todo o direito emphyteutico,
Lisboa 1814 (ed. cons. 1857), II, 148 ss.
185 Cf. Pascoal de Melo, 1789, III, 11,26.
186 No mesmo sentido, a C. L. de 4.7.1768 converte os prazos eclesiásticos de
passado em prazos vitalícios (§5).
100
livro_antonio_m_espanha.p65 100 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Apesar da ênfase do discurso proprietário, já desde a
segunda metade do século XVIII, a sua plena concretização
legal data já do século XIX, num momento mesmo bastante
posterior à revolução liberal. O seu monumento é o Código
Civil de 1867; mas, mesmo neste, ainda se encontram figuras
um tanto espúrias de domínios limitados, como a enfiteuse e
o “uso e habitação”.
Bibliografia citada
AMARAL, António Cardoso do, Liber utilissimus judicum [= Summa seu
praxis judicum, Ulysipone, 1610], ed. util. Conimbricae, 1740.
ATTALI, Jacques, Au propre et au figuré. Une histoire de la propiété, Paris,
Fayard, 1988.
COING, Helmut, Europäisches Privatrecht. 1500 bis 1800. 1. Älteres
Gemeinse Recht, München, C. H. Beck, 1985.
COSTA, Vicente José Cardoso da, Que he o Codigo civil, Lisboa, 1822.
GILISSEN, John, Introdução histórica ao direito, Lisboa, Gulbenkian, 1988.
* GROSSI, Paolo, Le situazione reali nell’esperienza giuridica medievale,
Padova, Cedam, 1968.
GROSSI, Paolo, “La proprietà nel sistema privatistico della Seconda
Scolastica”, in La Seconda Scolastica nella formazione del diritto privato
moderno. Atti dell-Incontro di studio di Firenze, Milano, Giuffre, 1973.
GROSSI, Paolo, “Tradizione e modelli nella sistemazione post-unitaria
della proprietà”, in Quad. fior. per la storia del penso giur. moderno, 5/6
(19761977); I.
* GROSSI, Paolo, Il dominio e le cose, Milano, Giuffre, 1992.
* HESPANHA, António Manuel, “O jurista e o legislador na constru-
ção da propriedade burguesa-liberal em Portugal”, in Histórias das
instituições. Textos de apoio, Lisboa, palie. 1979 (versão sem notas, An.
soe., 61-62 (1980) 211-236.
101
livro_antonio_m_espanha.p65 101 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
LOBÃO, Manuel de Almeida e Sousa, Notas a Melo, Lisboa, 1828-1829.
MELO (Freire), Pascoal José de, Instituciones iuris civilis (e criminalis)
lusitani, Ulysipone 1789,4 vols. (civilis) + 1 voI. (criminalis).
PEGAS, Manuel Alvares, Commentaria ad Ordinationes Regni
Portugalliae, Ulyssipone, 1669-1703, 12 tomos + 2.
PORTUGAL, Domingos Antunes, Tractatus de donationibus regilis
jurium & bonorum regiae coroane, Ulysipone 1673,2 vols.
ROCHA, Manuel Coelho da, Instituições de direito civil português,
Coimbra, 1848.
SOTO, Domingo de, De iustitia et de iure, Cuenca, 1556 (ed. fac-similada
e bilingue do Instituto de Estudios Politicos, Madrid, 1967).
TELES, J. M. H. Correia, Digesto portuguez, I, Lisboa, 1835-1836 (ed.
cons. 1853).
VALLEJO, Jesús, Ruda equidad, ley consumada. Concepción de la potestad
normativa (1250-1350), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1992.
Bibliografia sugerida – As obras assinaladas com *
Notas
(1) Enumera aqui os doutores (n. 265 ss.: cf. Ord. fil., III,59,15; v.120; III,87,23), os
licenciados (n. 278 ss.: cf. Ord. fil., v.120; III.29; III,59,15; 1,66,42); os mestres
de artes (n. 283 ss.); os bacharéis, nomeadamente advogados (n. 284 ss.). Já o
estatuto dos médicos seria discutível (n. 296 ss.). E indiferente (não dando nem
tirando a nobreza), o dos cirurgiões (n. 308), dos boticários (n. 314), dos ouri-
ves (n. 324), dos músicos (n. 325) e dos matemáticos (n. 326).
(2) Além da “milícia armada” (n. 329 ss.) – cavaleiros das ordens militares (que
também têm o estatuto de clérigos), oficiais militares (condestável, almiran-
te, capitães-mores, capitães de fortalezas, cavaleiros das companhias e cava-
lo, capitães e alferes de ordenanças) – inclui aqui, significativamente, a “mi-
lícia inerme” (362 ss.), na qual enumera os oficiais palatinos (v. g., o mordomo-
mor, o camareiro-mor, os moços da câmara; “condes palatinos”, como o
trichante-mor, o estribeiro-mor, o mordomo das obras; outros oficiais, como
os capitães da guarda e de dos ginetes; “condes consistoriais”, como os
membros do Conselho de Estado, notários régios, secretários régios, oficiais
da fazenda). O mesmo estatuto teriam os oficiais da Casa de Bragança, que
então não era a casa real (n. 385).
(3) Dariam nobreza os ofícios e governadores de armas das províncias (n. 405),
regedor das Justiças (n. 406: Ord. fil., 1,1); presidente do Desembargo do Paço (n.
102
livro_antonio_m_espanha.p65 102 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
409); governador da Casa do Cível; governadores do Algarve, Brasil, Índia e
Angola (n. 411); conselheiros régios (n. 412); chanceler-mor (n. 413: Ord. fil., 1,2);
desembargadores do Paço (n. 416); deputados na Mesa da Consciência e Ordens
(n. 416); desembargadores, em geral (n. 421: Ord. fil., v.120); corregedores (ns.
424-425); provedores (n. 426); juízes régios (428 ss.); juízes ordinários, vereado-
res, almotacés, procuradores dos concelhos, meirinhos e alcaides (n. 432-442,
445: Ord. fil., v.139), mas só nas terras em que era costume reservar este lugar a
nobres. Já os lugares de escrivão e tabelião seriam indiferentes (n. 443 ss.).
(4) Cf. Ord. fil., v.138: II, 12,2; Carvalho 1634 – “divitiae enim aequiparantur
originaria nobilitas ... & divites pauperibus praeferendos in muneribus
patrimonialibus” [a riqueza equipara-se à nobreza originária ... e os ricos de-
vem ser preferidos aos pobres nos ofícios da república de natureza patrimonial
V. g., tesoureiros, recebedores, depositários, etc. ?]... “Unde divites, qui soliti
sunt equester incidere, praedictum statum, & conditionem nobilitatis
consequuntur ... qui ex divitiis acquiratur vera et propria nobilitatem” [de onde
os ricos que costumam andar a cavalo adquirem a condição nobre...pois pela
riqueza adquire-se a verdadeira e própria nobreza] (I, ns. 458 ss.).
(5) Cf., discutindo a questão e concluindo que, embora o homem fosse dono da
sua vida, da sua fama e da sua fama, estes bens eram indisponíveis, Fragoso,
1640, III, p. 616, ns. 7 ss.
(6) Em princípio, só a guerra defensiva e não provocada (i. e., em legítima defesa)
era justa. Este princípio valia plenamente entre os príncipes cristãos, com o
complemento de que a “guerra velha”, de que nem já se lembrava a causa, se
presumia justa para ambos os lados. No interior do mundo já conhecido, a
guerra contra os infiéis (“cruzada”) baseava-se na ideia de que as terras por
estes ocupadas já tinham sido cristãs e que, guerreando-os e sujeitando-os,
não se fazia mais do que, usando da legítima defesa, reparar uma ofensa
anterior. Isto valia plenamente para a África (mormente, para a setentrional),
para o Próximo Oriente e mesmo para as regiões da Índia, pois, segundo a
tradição, aí teria chegado a mensagem cristã, pela pregação de S. Tomé (cf.
Thomaz, 1990, 73 ss.; 1991). Mas não valia, claramente, para a América ou
para o Extremo Oriente, habitadas por gentios que nunca tinham conhecido
cristãos. Aí, a guerra apenas se podia legitimar pela prática pelos gentios de
actos incompatíveis com as regras universais de convivência. O elenco destes
actos variava um pouco. Para uns, seria apenas a interdição da divulgação da
mensagem cristã (que devia ser ouvida, independentemente da sua aceitação
ulterior) e a violação da paz (v. g., maltratar os embaixadores). Para outros,
incluiria ainda a opressão injusta de inocentes e o impedimento do comércio
pacífico, pois este seria uma forma natural de comunicação entre os homens (é
a opinião de Vitória e, também, do autor anónimo de um Tratado sobre a guerra
que será justa [c. 1547-1548], Dias, 1973,236,246; contra, Luís de Molina, cit. por
Dias, 1973,263, que decerto não esquecia que os reis de Portugal e Espanha
impediam o comércio de outros europeus dentro das suas áreas de influência).
O elenco não abrangia, no entanto, nem a guerra ordenada pelo Papa, nem a
aquela de que proviessem benefícios espirituais (conversão), nem a que fosse
feita a pretexto da prática pelos indígenas de actos considerados pelos cristãos
como bárbaros ou depravados (cf. Fragoso, 1640, III, p. 628, n. 6; Soto, 1556,
lib. 5, qu. 3; também, Dias, 1973,247,254 ss., 260).
103
livro_antonio_m_espanha.p65 103 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
(7) Os princípios da teologia moral peninsular quanto à escravização e ocupação
dos domínios alheios estão compendiados, v. g. em Fragoso, 1641 III, I. 10,
disps. 21 e 22 (onde se cita bibliografia suplementar, nomeadamente, Rebelo,
1608, I, lib. I do prael., qs. 9 e 10, e Molina, 1593, I, tract. 2, disp. 35;. A sua
casuística pode ser compendiada (seguindo, sobretudo Fragoso, 1641, loco cit.)
da seguinte forma: (i) excluem a escravização de cristãos por cristãos, mesmo
em guerra justa, por não estar em uso; (ii) o mesmo quanto à de fiéis por infiéis,
pois estes nunca gozariam de título justo para a guerra; (iii) excluem a
escravização dos japoneses, pois estaria proibida por lei (de D. Sebastião) e por
uma provisão do bispo do Japão; (iv) o mesmo quanto à dos chineses, ser
desconhecida na China e os seus inimigos [tártaros e japoneses, sobre os quais
v. a lei de 20.9.1560, em Leys, & provisões que Elrey D. Sebastião, Coimbra 1816,
129-131] carecerem de título justo para os guerrearem a cativarem, dado que
as suas guerras seriam ofensivas, atento ao carácter pacífico dos chineses; (v)
os índios brasileiros: apenas poderiam ser reduzidos a cativeiro em guerra
justa que entre eles tivesse lugar, sendo em princípio injusta a que lhes moves-
sem os europeus, por ser ofensiva; de qualquer modo excluíam que o cativeiro
dos índios se pudesse justificar peja intenção de os converter, pois a conversão
seria essencialmente um acto de adesão livre; (vi) quanto aos hindus, a sua
escravização seria justa se decorresse da guerra justa que os portugueses aí
conduzissem contra turcos e mouros ou reinos a eles aliados; quanto aos dos
reinos amigos, só se se vendessem por uma necessidade extrema; (vii) quanto,
finalmente, aos africanos (da Guiné, Angola e Monomotapa), o seu cativeiro
seria legítimo apenas se proveniente de guerra justa ou da venda de si mesmos
por máxima extrema; mas não já apenas para os forçar à conversão; em geral,
a presunção mais provável seria a da injustiça do cativeiro, quer porque usu-
almente estes escravos teriam sido vendidos por infiéis que os capturavam por
violência e dolo, quer porque as guerras intertribais seriam mais latrocínios do
que guerras; daí que pecassem quem os vendesse ou comprasse sem prévia e
cuidadosa averiguação (o bispo do Congo, D. Pedro Brandão, apenas teria
dado a absolvição a menos de 200 dos 3000 comerciantes de escravos que
operavam na sua diocese).
(8) Sobre esta e outras classificações das coisas (móveis e imóveis, corpóreas e
incorpóreas, sagradas, religiosas e santas, no comércio ou fora dele, de um
dono, comuns e de ninguém [rei nullius]), cf. Amaral, 1610, s.v. “Res”; Meio,
1789, III, I, 10.
(9) Uma manifestação de “coisificação” é a disponibilidade da actio furti para punir
a usurpação de direitos sobre coisas (um caso particular é o do furto de uso).
(10) Sobre o tema, Hespanha, 1979,52 ss.; Vallejo, 1992, 141 ss., com muitos textos
impressivos (“E esta equiparação da jurisdição ao domínio prova-se assim: o
príncipe tem toda a jurisdição [...] e por isto se diz senhor [dominus] de todo o
mundo” (Bártolo, cit. p. 149). O domínio do príncipe (e restantes magistrados)
sobre os seus súbditos e sobre as coisas existentes no seu território era descrito
como um dominium quoad iurisdictionem, ou seja, um domínio dirigido a uma
certa fruição (jurisdicional), como os outros domínios (v. g., o utile) se dirigiam
a fruições diferentes (v. g., a fruição económica). Mais tarde, maxime com Hugo
Grócio (1583-1645) fixa-se a expressão “domínio eminente”. Só quando o domí-
nio passa a ser considerado como um poder absoluto (v. infra) é que a ideia de
um “domínio político” se toma paradoxal, pois não poderiam existir dois domí-
104
livro_antonio_m_espanha.p65 104 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
nios sobre as mesmas coisas. Em Portugal, o poder tributário ainda é filiado no
domínio eminente por Pascoal de Meio (1789, I, 4, 7); mas tal conceito já é
criticado por António Ribeiro dos Santos e problematizado por Lobão.
(11) “Sem desejo e sem vontade ninguém tem domínio”, escreve Richard
Connington; “como são inseparáveis o amor do domínio”, exclama John
Peckham. “Isto [a aquisição do domínio] opera-se exclusivamente pela von-
tade interior e as manifestações exteriores, por muito fortes e eficazes que
sejam naturalmente, apenas são relevantes enquanto sinais voluntários da
vontade interna”, escreve Pedro de Olivo, tudo escritores franciscanos dos sécs.
XIII e XIV. Manifestações desta nova dissociação entre o domínio e o uso são,
por um lado, o avarento (que é dono, mas não usa) e, no outro pólo, justamente
os mendicantes (que usam, mas não são donos).
(12) Cf. J. Carbonnier, Droit civil. Les biens, Paris, 1978,94; M. Vidal, “La propriété
dans l’École de I’exegese an France”, Quad. fior. per la storia del pensiero giuridico
moderno, 1976/1977, I, 7-40. O uso do termo absoluto com este sentido de não
dependente da vontade de outrem remonta, pelo menos, ao séc. XVII
(“dominium est ius in re absolutum et firmum non dependens ex alterius
nutus et arbitrio”, Laesius, De iustitia et de iure, 11, capo 3, dub. 8, n. 32).
(13) Cf. Teles, 1835, 8/9, ns. 14 a 17: regras sobre as prioridades no exercício dos
direitos concorrentes.
(14) Cf. Manuel Fernandes Thomaz, Observações sobre o discurso que escreveu Manoel
d’Almeida e Sousa em favor dos direitos dominicaes da coroa, donatarios, e particulares,
Coimbra, 1814,80/81; Teles, 1835, I, 117 (n. 743); sobre o pretenso direito
eminente do Estado, v., Lobão, 1828, III, 64.
(15) Daí a antipatia da generalidade dos autores desta época pela obrigatoriedade
de cultivar as terras, frequente nas leis agrárias anteriores (cf. José Acúrsio das
Neves, Memória sobre os meios de melhorar a industria portugueza, considerada nos
seus differentes ramos, Lisboa, 1820, 24 ss.: “é viciosa toda a lei que faz violência
ao proprietário, ou ao lavrador sobre o uso do seu prédio, ou sobre o seu modo
de cultura”. Já os teóricos iluministas apostavam na estrita regulamentação
da produção agrícola (cf. António Henriques da Silveira, “Sobre a agricultura
e população da província do Alentejo”, em Memorias economicas da Academia
Real das Sciencias de Lisboa, I, 41-123; Prophyrio Hermeterio Homem de Carva-
lho, Primeiras linhas de direito agrario, n’este reino, Lisboa, 1815.
(16) Cf. Aires Pinhel, De bonis maternis, Conimbricae, 1557; D. A. Portugal, De
Donationibus 1673, L 3, C. 13, n. 42; M. A. Pegas, Commentaria ad Ordi 1669,
V.g. ad Ord. II, 33, 9, gl. 11 n. 2; Pascoal de Melo, 1789, III, 2,4.
(17) “Dominii appelatione proprio venit directum; lato modo vero tam utilis
quam directum venit” (Agostinho Barbos, “De appellatione verborum”, em
Tractati varii, Lugduni, 1644, s.v. “dominium”, app. 79, n. 1); também Portu-
gal, 1673, p. 3, c. 13, n. 42 ss.
(18) Cf. Aires Pinhel, De bonis maternis, pp. 81/82; António Gama e Alvaro Valasco,
Promptuarium iuridicum (elab. por Bento Pereira), Eborae, 1615, s.v. “dominium”;
Portugal, 1673,1. 3, c, 13, n. 42.
(19) Cf. Phorphyrio Hermeterio Homem de Carvalho, Primeiras linhas do direito
agrario deste reino, Lisboa, 1815; ou Manuel Femandes Thomaz, Repertorio geral
[...] das leis extravagantes, Lisboa 1843 (2.’ ed.), s.v. “Agricultura”.
105
livro_antonio_m_espanha.p65 105 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
(20) Cf. Manuel Femandes Thomaz, Observações sobre o discurso que escreveu Manoel
d’Almeida e Sousa em favor dos direitos dominicaes da coroa, donatarios e particulares,
Coimbra, 1814.
(21) Que só serão abolidos em 19.5.1863, embora legislação pombalina (Cs. L. de
7.9.1769 e de 3.8.1770; cf., suspendendo parte das suas disposições, a c.L. de
17.7.78) já tivesse tomado certas medidas destinadas a liberar a propriedade
vinculada: na verdade, estas leis proíbem (ou, no caso, dos morgados,
condicionam a autorização régia, dada pelo Desembargo do Paço), para o
futuro, a instituição de morgados e de capelas sobre bens de raiz, mandam
reverter à coroa os devolutos e extinguem os que não tenham um rendimento
superior a certa quantia. Estas duas cartas de lei devem ter gerado um movi-
mento de desvinculação que, no entanto, não foi ainda estudado (cf. Tomás
António de Villanova Portugal, em Memorias de litteratura, III, 460).
(22) Já havia uma tradição legislativa anterior, impondo limites aos censos ou aos
juros (cf. alvs. 13.12.1614; 12.10.1643; 23.5.1698). No entanto, as providências
pombalinas são especialmente relativas aos censos do Algarve. Cf. alvs.
16.1.1773 (limita os censos a 5% do produto); 4.8.1773 (reduz os censos a 1/
3); 15.7.1779 (volta atrás, reduzindo-os apenas a 1/2). Mais tarde, discute-se
a oportunidade de estender esta determinação a todo o reino.
(23) Sobre a lesão na enfiteuse, v. Manuel Gonçalves da Silva, Commentaria ad
Ordinationes, Ulysipone, 1740, IV, 327 ss.; Manuel de Almeida e Sousa, Discurso
juridico, historico e critico sobre os direitos dominicaes, Lisboa 1813, § 68 ss., n. 46 ss.
(24) O projecto baseava-se num voto ainda mais ousado do desembargador
Francisco de Abreu, que ampliava a anterior disposição a todos os particula-
res. V. a documentação no A.N.T.T., Reino, mç. 356.
(25) Com base num texto de Digesto relativo à concessão pública de águas (D.,
43,20,1,44), Bártolo defendia a opinião de que a equidade obrigava à renova-
ção da enfiteuse “equidade bartolina”). Sobre a equidade bartolina na doutrina
portuguesa pré-iluminista, v. António Cordeiro, Resoluções theojuristicas, Lis-
boa, 1718, resol. 1 a 12 (adversário da renovação, fundando-se no direito
comum e pátrio e na prática dos tribunais do reino, pelo menos a partir do
século XVI); quanto a este último ponto, as opiniões não são, contudo, unifor-
mes (cf. Alvaro Valasco, Decisionum, consultationum ac rerumjudicatarum,
Ulysipone 1583-1601 [ed. cons. 1730], que refere haver discrepâncias na juris-
prudência da Casa da Suplicação e da Casa do Cível).
(26) É o caso de Vicente José Cardoso da Costa, Memoria sobre a avaliação dos bens
de prazo, Lisboa 1802, 30 ss.
106
livro_antonio_m_espanha.p65 106 11/11/2005, 03:02
PARTE III
O DIREITO
livro_antonio_m_espanha.p65 107 11/11/2005, 03:02
livro_antonio_m_espanha.p65 108 11/11/2005, 03:02
1. O DIREITO
Objectivos da aprendizagem
Quando terminar esta unidade, o aluno deve ser capaz de:
• Explicar o carácter modelar do discurso e das téc-
nicas de decisão do direito;
• Identificar os mecanismos pelos quais o direito moder-
no se renova e se abre ao contexto cultural e social;
• Identificar os traços de casuismo e de particularismo
do direito de Antigo Regime;
• Definir os traços gerais do processo de recepção do
direito romano e avaliar a sua importância do pon-
to de vista político;
• Caracterizar a ordem jurídica portuguesa moder-
na, pré e pós-pombalina.
Num texto de há um par de anos187 , desenvolvi o tema da
centralidade do “iudicium” – i. e., de um processo regulado,
metódico e dialogado de decisão – como modelo de resolução
dos conflitos na sociedade tradicional europeia(1). Daí resul-
187 Hespanha, 1990.
livro_antonio_m_espanha.p65 109 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
tava uma imagem que salientava a centralidade da justiça –
como norma de regulação dos comportamentos sociais –, do
juízo – como técnica de certificação das posições sociais e
como mecanismo de decisão dos litígios – e dos juristas –
como engenheiros e mediadores das relações sociais.
Algo ficou então por dizer sobre a justiça, como virtu-
de, isto é, como norma de comportamento moral. Mas do
conjunto já terá ressaltado como é indispensável o estudo
das fontes jurídicas (a que acrescento, por razões que se ex-
porão mais adiante, as fontes teológico-morais) para a com-
preensão dos comportamentos individuais e das estratégias
sociais na Época Moderna. .
Não se trata apenas de que os quadros do direito ser-
vem para entender e descrever, com uma grande economia
de trabalho de pesquisa, os quadros de organização da vida
colectiva; pois, de facto, na grande literatura jurídica moder-
na, tanto na tratadística, como na casuística, se encontram,
explícitas e sistematizadas, as normas que disciplinam os com-
portamentos sociais, tanto nas suas relações com os poderes,
mas ainda nas relações entre os particulares.
Trata-se, para além disto, de que o próprio imaginário
social está repassado de referências ao mundo do direito e da
justiça. A justiça é o primeiro objectivo do governo, pois ela
consiste no respeito da própria ordem das coisas (“iustitia est
perpetua et constas voluntas ius suum cuique tribuendi”, a
justiça é a vontade constante e perpétua de atribuir a cada
um o seu lugar na ordem do Universo, D,I,1,12, § 1); a justi-
110
livro_antonio_m_espanha.p65 110 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
ça é a segunda virtude cardinal188 ; o direito é a garantia das
situações sociais e individuais estabelecidas pela ordem na-
tural e sobrenatural (“iurisprudentia est divinarum atque
humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia”,
D,I,1,12,2); o “juízo” é uma via intelectual para a prudência
e esta é a primeira virtude cardinal189 e a mestra da vida em
sociedade)190 ; os juristas são os sacerdotes do justo e do eqüi-
tativo (“jus est ars boni et aequi, § 1. Cuius merito quis nos
sacerdotes appellet”, D.,I,1,1,1/2).
Mas, para além de tudo isto, o direito constitui, com
a teologia, o núcleo duro da cultura literária do Antigo
Regime. E não apenas por, em termos do número das obras
impressas durante os séculos XVI e XVII (por exemplo, em
Portugal, em Espanha e em Nápoles), a tradição literária do
direito ser o mais rico dos saberes especializados, logo a se-
guir à da teologia(2).
O objectivo deste capítulo é, justamente, o de explicar,
desde logo, qual era a natureza deste direito. Isto porque é
essa sua natureza, tão diferente da do direito dos nossos dias,
que o torna tão importante como factor de conformação das
relações sociais. Veremos que o direito é considerado como
muito mais do que o produto da vontade, momentânea e ale-
atória, dos detentores do poder político; que é considerado
188 Tendo como virtudes anexas a religião (em relação a Deus), a piedade (em
relação aos pais), a observantia (em relação aos diferentes estatutos sociais), a
verdade e a graça; cf. S. Tomás, Summa theologica, II.IIae, qu. 58-123.
189 Cf. S. Tomás, Summa theologica, II.IIae, qu. 47-57.
190 Sobre o juizo, S. Tomás, Summa theologica, II.IIae, qu. 60.
111
livro_antonio_m_espanha.p65 111 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
como uma “razão escrita” (ratio scripta), objectiva, ligada à
natureza das coisas, não instrumentalizável pelo poder, que
se manifestava numa longa tradição intelectual e textual.
Veremos, depois, como é que esta tradição literária e
intelectual comunicava com a prática social, conformando-a
e recebendo dela estímulos. A este propósito, discutiremos
uma questão famosa, a de saber se esta tradição do direito
letrado contribuía ou não para centralizar o poder.
Finalmente, descreveremos, nos seus traços essenciais, o
quadro das fontes de direito portuguesas da Época Moderna.
1.1 O direito como tradição literária
Esta tradição literária é relativamente difícil de abar-
car para os não iniciados. Pela magnitude do seu corpo tex-
tual, mas também pela sua sistematização, que não coinci-
de com as actuais sedes materiae da ciência do direito, da
sociedade e do poder. Mas, sobretudo, ela constitui um sis-
tema com regras muito próprias de construção, regras es-
sas que condicionam os sentidos de cada texto. O objectivo
deste capítulo é, justamente, o de, de uma forma sintética,
procurar descrever as linhas de força da arquitectura do
conjunto, de modo a constituir uma introdução elementar
ao seu uso historiográfico.
Uma apresentação das características desta tradição
merece, portanto, a pena. É o que faremos seguidamente.
A tradição jurídica europeia é baseada – como outras
– numa tradição literária, i. e., numa cadeia de textos cuja
112
livro_antonio_m_espanha.p65 112 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
unidade decorre, antes do mais, da referência aos mesmos
textos fundadores. No caso europeu, estes textos fundadores
são, por um lado, os textos do direito romano, nomeadamen-
te os contidos no Corpus iuris civilis, mandado elaborar por
Justiniano I, imperador de Bizâncio (529 d.C.-565 d.C), e os
textos de direito canónico, quer os de direito divino (as Escri-
turas), quer os de direito humano (nomeadamente, os conti-
dos no Corpus iuris canonici, c. 1140-século XV).
Como em todas as tradições literárias, coexistem na tra-
dição jurídica europeia duas tensões opostas: a da autoridade
dos textos fundadores, que traz consigo o sentimento de que
lhes é devida fidelidade, e a da inovação, condição indispen-
sável de uma actualização da tradição e da sua compati-
bílízação com o ambiente “extratextual”.
Os fundamentos da autoridade dos textos fundadores
são, no caso do direito canónico, o da sua natureza de textos
revelados ou provenientes de autoridades providas de carisma
religioso, como o Papa e os concílios(3); no caso do direito
romano, a convicção do seu carácter racional (a sua nature-
za de ratio scripta, razão escrita).
A autoridade dos textos jurídicos fundadores não era,
no entanto, do mesmo tipo da autoridade dos actuais textos
legais. É certo que, num caso e noutro, o intérprete não está
autorizado a afastar o texto, a substituí-lo ou a submetê-lo a
um “livre exame”. Mas, nos actuais textos legislativos, há al-
guém – o legislador – que o pode fazer, pois os textos
legislativos não reproduzem uma ordem (racional ou natu-
113
livro_antonio_m_espanha.p65 113 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
ral) necessária ou indisponível, mas a vontade de pessoas ou
de órgãos colectivos.
Vontade essa que é mutável (arbitrária) e susceptível de
ser questionada no plano da política do direito (de iure
condendo), embora não o possa ser no plano estritamente jurí-
dico (de iure condito). O mesmo não acontecia, porém, no seio
da tradição jurídico-textual europeia medieval e moderna,
em que, decorrendo a autoridade dos textos ou da revelação
ou da razão, estes eram indiscutíveis, mesmo no plano da
política do direito. O que tinha duas consequências.
A primeira era a de que o jurista, para além de estar
obrigado a observar o texto, estava ainda obrigado a aderir à
sua razoabilidade e a demonstrá-la191 ; ou seja, a cultivar um
discurso “dogmático”, em que as proposições deviam ser acei-
tes pela sua evidência interna e não pela sua dependência
em relação a factores externos de constrangimento (como,
nomeadamente, o poder que o príncipe tem de fazer aplicar
coactivamente os seus comandos). A segunda consequência
era a de que a tradição textual (e os seus cultores) gozavam
de uma autoridade que era independente do poder político
e, mais do que isso, superior a esse poder, pois a razão (ou
revelação) gozava de uma autoridade mais elevada e mais
geral do que a vontade dos príncipes. Tudo isto explica o
191 A menos que o texto contrariasse uma razoabilidade de ordem superior da
própria tradição doutrinal. Por exemplo, se um texto de direito civil contrarias-
se gravemente um texto de direito canónico; ou se um texto de direito particu-
lar (v. g., uma lei ou um costume de reino) contrariasse a razão do direito
comum (“contra tenorem iuris rationis”).
114
livro_antonio_m_espanha.p65 114 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
modo subordinado como esta tradição textual integrará as
normas que não se fundam directamente nos textos funda-
dores (como é o caso da legislação real).
Esta autoridade dos textos interioriza, nos seus leitores,
a ideia de que se lhes deve obediência, de que eles constituem
uma matéria obrigatória de transmissão (de ensino, dogmata)
e de que o único trabalho legítimo do intérprete é o da sua
explicação (ou “abertura”, ex-plicare). Ou seja, o de procurar
captar, com base na sua letra ou indo para além dela, todos os
sentidos que eles encerram. Esta atitude reproduz o modelo
de relação que os teólogos mantinham com os textos revelados
e remete para a ideia de que, sendo a palavra (oral ou escrita)
um meio finito e limitado de expressão, há sempre sentidos
ocultos para além da superfície das palavras (ultra corticem
scripturarum), sendo a tarefa do intérprete a de reconstituir,
por meios racionais ou para-racionais(4), o sentido existente
no espírito do autor do texto. A hermenêutica (ou teoria da in-
terpretação) constitui, justamente, o saber que permite o
aprofundamento desta tarefa de captação do sentido.
Se a autoridade dos textos constitui um pólo de ten-
são, sobretudo num saber que visa a regulação prática do
mundo extratextual, esta tensão que decorre da autoridade
combina-se com a que decorre da necessidade de actua-
lização (ou inovação).
É certo que qualquer tradição literária comporta neces-
sariamente inovação, uma vez que cada leitura constitui uma
recriação do texto original. De facto, o acto de leitura integra o
115
livro_antonio_m_espanha.p65 115 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
texto lido no horizonte intelectual do leitor192 ; e, a partir desse
momento, produz-se uma dupla reacção. Os sentidos presen-
tes nos quadros intelectuais (linguísticos, semânticos, culturais,
vivenciais) do leitor enxertam-se nas palavras do texto que,
assim, ganha um novo significado. E, por outro lado, esta nova
leitura aumenta o arquivo de referências intelectuais do (de
um novo e sucessivo) leitor. Claro que desta contextualização
do texto no universo intelectual do seu receptor resulta uma
enorme atenuação (senão a completa subversão) dos sentidos
originais do texto recebido, mesmo quando o leitor se esforça
por reconstituir o ambiente intelectual em que o texto é produ-
zido, pois mesmo esta reconstituição está irremediavelmente
dependente das categorias mentais do receptor.
Mas, para além desta actualização “impensada”, pode
haver uma actualização consciente e, até, voluntária, deri-
vada do facto de o leitor (ou receptor) querer adequar o texto
a novas problemáticas, quer estas provenham de outros tex-
tos (por exemplo, de textos teológicos com os quais os jurídi-
cos devam ser postos de acordo, como aconteceu com os tex-
tos romanos em face dos textos da teologia cristã), quer elas
provenham do ambiente extratextual (i. e., da sociedade à
qual os textos devam ser aplicados). Neste caso, o problema
que se põe é o de compatibilizar a fidelidade com a actualização.
E a solução é ainda aqui a mesma – toda a inovação tem que
aparecer (com mais ou menos verosimilhança) como inter-
192 Que, para este efeito, pode ser considerado como um “intertexto” no qual o
texto lido é integrado e do qual passa a receber sentido.
116
livro_antonio_m_espanha.p65 116 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
pretação, como desvendamento de sentidos já presentes, em-
bora implicitamente, no texto.
Por isso é que a tradição textual clássica do direito eu-
ropeu, embora pareça imobilista e conservadora, só formal-
mente o é. Porque, embora as referências invoquem inces-
santemente os mesmos textos, estes recebem, também inces-
santemente, novos conteúdos, pensados ou impensados.
Quando se trata de actualizações conscientes, esta tare-
fa de inovação exige a disponibilização de meios intelectuais
muito poderosos de tratamento dos textos. Ou seja, de meios
(lógicos, argumentativos, hermenêuticos) capazes de fazerem
passar por sentido original do texto os novos sentidos que o
autor aí quiser inserir. Isto explica também o carácter extre-
mamente refinado e complexo da técnica de tratamento inter-
pretativo dos textos corrente ao longo da tradição jurídica
europeia. Esta complexidade da estrutura do discurso jurídico
não constitui, por isso, um elemento apenas estilístico (o gosto
pelas “subtilezas”, o “formalismo lógico-dialéctico”, o carácter
“escolástico”), mas uma condição de actualização de textos
dotados de autoridade. Com o tempo, no entanto, é certo que
a função se transforma em estilo e que a sua reprodução decor-
re do facto de este estilo se ter incorporado também na tradi-
ção, como um seu elemento “formal”. E de ter passado, assim,
tal como acontecia com as referências “materiais”, a consti-
tuir um elemento obrigatório de referência. O discurso especí-
fico que era a “literatura jurídica” caracterizava-se, assim, por
uma dupla ligação à tradição. Por um lado, uma ligação “ma-
117
livro_antonio_m_espanha.p65 117 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
terial” aos textos fundadores e à cadeia textual construída so-
bre eles; por outro lado, por uma ligação aos géneros literários
consagrados e à sua morfologia estilística.
Numa tradição literária em que cada peça textual não é
mais do que um aprofundamento, sempre parcial e provisó-
rio, de textos fundadores com uma gama ilimitada de senti-
dos, cada texto não se substitui aos anteriores nem lhes retira a
sua validade. Assim, a dinâmica da tradição é uma dinâmica
agregativa, em que cada nova interpretação passa a coexistir
com as anteriores. E não, como na tradição legislativa dos nos-
sos dias, uma dinâmica substitutiva, em que a lei posterior
derroga a anterior (pelo menos naquilo em que a contrariar).
Uma tradição dotada de uma dinâmica agregativa põe,
no entanto, problemas quanto à decidibilidade das soluções,
pois – não coincidindo várias propostas diversas – surge o
problema de saber qual delas deve ser preferida.
A solução normal é a de manter a questão em aberto,
deixando o campo livre a cada nova leitura para, em face do
complexo de textos em presença (i. e., do intertexto), encon-
trar um sentido que compatibilize as várias peças da tradi-
ção textual (uma concordia discordantium).
Mas, se alguma hierarquização tiver que ser feita, ela
deve respeitar, ainda, a lógica agregativa da tradição. Ou
seja, deve preferir a interpretação surgida mais vezes (a mais
comum, communior opinio), porque esta – num mundo em
que o acesso pleno ao sentido dos textos está excluído e em
que, portanto, não existem senão maiores ou menores possi-
118
livro_antonio_m_espanha.p65 118 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
bilidades de aproximação – é a mais provável e, também, a
mais incorporada na própria tradição.
Também compatível com a lógica agregativa da tradi-
ção é a solução de que preferíveis são as opiniões mais mo-
dernas, ou seja, daqueles que, tendo podido conhecer todos
o intertexto tradicional e, portanto, todas as propostas
hermenêuticas aí contidas, se pronunciaram em certo senti-
do. Em certo sentido, a lógica agregativa é, aqui, substituída
por uma lógica substitutiva. Mas deve notar-se que a última
opinião é como que a suma (ou o saldo) das opiniões anteri-
ores que, de resto, não são canceladas da tradição(5).
As duas anteriores soluções levam, porém, a resultados
totalmente diversos quanto à dinâmica da tradição. O pri-
meiro reforça o seu imobilismo, o império das soluções rece-
bidas sobre as soluções inovadoras. O segundo, pelo contrá-
rio, acelera a mudança, embora limitada pela obrigação de
fidelidade aos textos fundadores. De qualquer modo, o seu
preço é o de uma maior indisciplina e maior incerteza.
Em contrapartida, uma solução incompatível com o
conceito de tradição é a de escolher como decisiva a solução
preferível, do ponto de vista do intérprete, do ponto de vista
da política do direito, ainda que sem qualquer base textual
(“sine textum arguere [...]). Ou a solução proposta em nome
de uma qualquer autoridade extrínseca à tradição (como uma
lei nova do príncipe). Neste caso, fecha-se um ciclo da tradi-
ção textual, embora se possa, ao mesmo tempo, abrir um novo
ciclo com base no novo texto(6).
119
livro_antonio_m_espanha.p65 119 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
1.2 Tradição jurídica e contexto social
Outra característica de uma tradição jurídica como a
europeia é o seu carácter auto-referencial. Ou seja, todo o
sistema de referências e de autoridades da tradição está
contido nela mesma. Assim, as razões de decidir (rationes
decidendi) ou são os textos da tradição (textos do Corpus iuris
civilis, textos do corpus iuris canonici, glosas ou comentários
sobre eles, outras obras doutrinais neles baseados) ou uma
“sensibilidade jurídica” deles induzida (aequitas, ratio iuris,
natura rerum)193 . O próprio direito dos reinos ou da cidades
(iura propria) apenas é recebido nos termos estabelecidos pela
tradição. Desde logo, o fundamento da sua recepção é um
texto do Digesto (a 1. omnes populi, (D.,I,1,9); e, depois, todo
o seu processamento está sujeito à ratio do direito comum.
Uma norma de direito próprio contrária aos princípios do
direito comum (contra tenorem iuris rationis) pode ser admiti-
da, mas será sempre considerada como excepcional e odiosa
e, no momento de ser interpretada e aplicada, será objecto
de uma contínua usura que tenderá a tirar-lhe progressiva-
mente toda a eficácia.
Um fechamento ainda maior se verifica em relação às
“razões de oportunidade” ou de “utilidade” experimenta-
das no plano das relações sociais. Em princípio, elas não são
invocáveis senão enquanto forem suportadas por algum fun-
193 Que, frequentemente, se encontra já concretizada em textos integrados na
tradição.
120
livro_antonio_m_espanha.p65 120 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
damento textual. Tal como “o que não consta do processo,
não existe” (quod non est in actis non est in mundo), também o
que não é tido em consideração nos livros de direito não o
deve ser no momento de decidir (i. e., quod non est in libris non
est in mundo). É isto, fundamentalmente, o que separa os juris-
tas dos “políticos” nas polémicas seiscentistas sobre o modo
de governar. Enquanto os juristas pensavam que governar era
“fazer justiça” e que as regras da arte de fazer justiça (iurispru-
dentia) estavam na tradição textual do direito, os políticos cri-
am que se devia decidir a partir da consideração da própria
realidade, levando a cabo um seu “livre exame” .
Também no seu desenvolvimento ou reprodução, o sis-
tema da tradição jurídica é auto-suficiente; ou seja, cria-se a
si mesmo, apenas com os seus recursos e de acordo com as
suas regras de reprodução – é autopoiésis. Já antes se disse.
Não apenas qualquer solução nova se tem que fundar nou-
tra solução anterior já existente na tradição, como essa fun-
damentação tem que se processar de acordo com regras de
inferência (com uma ars decidendi) estabelecidas também na
tradição. E, de facto, os argumentos utilizáveis em direito
estão rigorosamente codificados, sendo mesmo objecto de
“catálogos”, em que aparecem alfabeticamente listados e
acompanhados das suas regras de uso. É o caso dos tratados
de lugares comuns (tractatus de locis communibus), muito vul-
gares a partir do século XVI. Deve, em todo o caso, atentar-
se na natureza desta codificação. Nos séculos seguintes, por
influência do racionalismo, também se produzem obras so-
121
livro_antonio_m_espanha.p65 121 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
bre as regras de pensar bem em direito (epistemologia jurídi-
ca, metodologia jurídica, lógica jurídica). Mas, enquanto es-
tas novas obras têm um carácter universalisante e pros-
pectivo 194 , as mais antigas remetem para a experiência de
um “pensamento pensado”; são catálogos de argumentos
“comuns”, i. e., já produzidos e geralmente aceites (e não
apenas produzíveis). A tradição é, assim, não apenas um sis-
tema de proposições, mas também um sistema de regras de
produzir novas proposições.
O fechamento da tradição jurídica ao meio envolvente
não é absoluto. Ela é sensível a estímulos exteriores; e só isso
explica a sua eficácia regulamentadora durante vários sécu-
los195 . Mas é o próprio sistema da tradição que define os limi-
ares da sua sensibilidade em relação ao meio (ao “extratexto”),
bem como o tipo de canais de comunicação (de mecanismos
de textualização do extratexto) entre o meio e o sistema textu-
al. Tal como no direito actual, essas interfaces do sistema da
tradição jurídico-literária são constituídas sobretudo por “con-
ceitos flexíveis”, ou seja, por conceitos que, pelo seu carácter
pouco estruturado (no plano sintáctico), são muito sensíveis
às exigências (às compressões, aos estímulos) do mundo não
194 Ou seja, estabelecem regras que são válidas pela sua evidência ou
racionalidade, independentemente de terem sido “recebidas” no discurso jurí-
dico; referem-se a um discurso a fazer (infieri) e não a um discurso feito (factum).
195 Embora deva ser salientado que o direito letrado não constituiu a única fonte
de regulamentação da sociedade; longe disso. Concorrendo com ele estavam,
para além do direito espontâneo, ordens normativas como a moral e a religião.
Para não falar já de formas menos estruturadas e visíveis de normação social
como a rotina e o senso comum.
122
livro_antonio_m_espanha.p65 122 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
jurídico. Conceitos como “equidade” (aequitas, bonum et
aequum), “natureza das coisas” (natura rerum, ius naturale),
“interesse”, seja “privado”, seja “público” (id quod interest,
salus publica [quae suprema lex est]). Qualquer destes conceitos
remete para âmbitos de discussão que já não pertencem ao
direito196 , esperando daí uma decisão que se incorpora, de-
pois, no processo de raciocínio jurídico(7). Além de que no
raciocínio jurídico aceite estavam incorporados argumentos
que reenviavam também para a sensibilidade extrajurídica
(v.g., o argumento por redução ao absurdo [ab absurdum], por
paridade de razão [a pari], por maioria de razão [afortiori], a
partir das consequências [a consequentis], etc.) e daí espera-
vam, também, uma decisão a incorporar no raciocínio.
De qualquer modo, esta disponibilidade para incor-
porar decisões tomadas num plano extratextual não era
ilimitada. O próprio sistema da tradição seleccionava as ins-
tâncias extratextuais que deviam levar a cabo esta tarefa de
textualização do ambiente e que eram, nomeadamente, os
tribunais. Eram, de facto, os juristas letrados envolvidos na
prática que deviam dar conteúdo a esses conceitos indeter-
minados ou mesmo incorporar na tradição normas desen-
volvidas autonomamente pela prática judiciária, normas usu-
almente introduzidas pelas adversativas “in foro autem...”,
“in praxi autem...” (“no foro, no entanto...”, “na prática, no
entanto...”). Daí que os géneros literários mais sensíveis ao
196 Qual seja a natureza das coisas, o que é que é equitativo, qual o equilíbrio
desejável do interesse, o que é que é exigido pelo interesse da comunidade.
123
livro_antonio_m_espanha.p65 123 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
ambiente e por onde este se integrava mais facilmente no
intertexto jurídico-tradicional fossem aqueles produzidos no
âmbito das instituições judiciárias – as colecções de decisões
(decisiones), de alegações (allegationes), as exposições da prá-
tica judicial ou para-judicial (praxistica). De onde as inova-
ções iam transitando para os géneros literários mais depen-
dentes dos textos fundadores (commentaria, tractatus). Por isso,
os mecanismos de abertura da tradição aos estímulos do
ambiente não eram os mesmos em todos os géneros literários
sob os quais se manifestava a tradição.
Uma outra questão é a da abertura do sistema da tra-
dição literária do direito em relação a outras tradições tex-
tuais, nomeadamente a da teologia ou da filosofia.
Aqui, a incorporação na tradição literária do direito era
facilitada pelo facto de alguns dos textos fundadores serem
comuns. Era o caso, nomeadamente, dos textos das Escritu-
ras, de que arrancava quer a tradição do direito canónico,
quer a da teologia e, até certo ponto, da filosofia. Este facto de
haver textos fundadores comuns às duas tradições aparenta-
va-as o suficiente para permitir que as autoridades reconheci-
das numa fossem também autoridades reconhecidas na ou-
tra. Esta emigração e imigração das autoridades explica, por
exemplo, que os juristas chamem em apoio (embora normal-
mente subsidiário) das suas decisões a autoridade, v. g., de
Aristóteles, de Séneca, de Santo Agostinho ou de S. Tomás.
Para além de que estes tinham também, num plano diferente
do das instâncias práticas, produzido reflexões que permiti-
124
livro_antonio_m_espanha.p65 124 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
am dar conteúdo aos conceitos indeterminados a que antes
nos referimos; ou seja, tinham reflectido sobre a “equidade”,
sobre a “natureza das coisas” e sobre a própria “justiça” como
virtude. Tinham, por outras palavras, cultivado aquele “co-
nhecimento das coisas divinas e humanas” em que a arte do
justo e do injusto se deveriam fundar (“iurisprudentia est
divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti
scientia”, cf. D., 1,1,10,2). Esta sensibilidade ao intertexto teo-
lógico e filosófico era, em contrapartida, mais nítida nos
géneros literários característicos do meio escolar, onde, fre-
quentemente, os mesmos autores participavam nas duas tra-
dições, escrevendo obras tanto de teologia como de direito. É
o que se passa, nomeadamente, com os grandes juristas, teólo-
gos ibéricos da Segunda Escolástica.
Uma tradição literária que, como a jurídica (ou a teológi-
ca), que se prolonga durante centenas de anos, não pode deixar
de condicionar o imaginário social, mesmo o daqueles grupos
sociais que não participam na sua criação e desenvolvimento.
De facto, apesar de este direito letrado não monopoli-
zar – longe disso – o universo da normação social, o certo é
que ele tende a constituir o centro do direito oficial dos
reinos de toda a Europa central e ocidental e, por isso, a
constituir uma referência (em última instância) para toda a
vida jurídica da comunidade. Ou seja, as pessoas sabem que
no topo de uma ordem jurídica que era, é certo, profunda-
mente pluralista, existia, apesar de tudo, um direito eminen-
te, aplicado nos tribunais que decidiam em última instância
125
livro_antonio_m_espanha.p65 125 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
e que este era o direito da tradição letrada. Daí que, na pers-
pectiva do que pudesse vir a acontecer mais tarde (nomea-
damente no plano dos eventuais recursos judiciais junto de
altos tribunais letrados), se desenhasse a tendência para ir
incorporando, mesmo nos níveis mais baixos da vida jurídi-
ca, elementos deste direito exemplar.
Esta osmose entre a tradição jurídica letrada e a práti-
ca jurídica quotidiana efectuava-se por meio de uma série de
mediações. As obras da tradição literária não chegavam à
vida quotidiana na sua forma integral e original. Elas eram,
de resto, escritas numa língua e num estilo que impedia a sua
difusão nos meios não letrados. Por isso, as suas vias de vul-
garização eram mediadores jurídicos não letrados que, não
dominando de qualquer modo o sistema e as especificidades
do direito erudito, dele colhiam ditos, regras muito simples,
fórmulas tabeliónicas que iam incorporando na vida jurídica
quotidiana, nomeadamente em função da progressiva utili-
zação da escrita nos actos jurídicos. Esta camada de media-
dores produzia, ela mesma, uma literatura própria (v. g., ars
notariae), que vulgarizava o direito erudito e o vasava em
broearda ou dieta simplificados, acessíveis, por tradição escri-
ta ou oral, à generalidade da população.
Neste processo de vulgarização da tradição jurídica le-
trada também não se pode desconhecer a importância do
papel da Igreja, cuja disciplina era largamente baseada num
direito que pertencia a essa tradição. E, como acontecia com
a própria tradição teológica, quer a liturgia, quer a parenética,
126
livro_antonio_m_espanha.p65 126 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
divulgavam o conteúdo do direito, modelando o nível da
transmissão às características do auditório.
Foi por estas vias que se foi criando uma cultura jurídi-
ca vulgar que passou a condicionar fortemente, como já des-
crevi noutro lado197 , o imaginário popular sobre o direito,
sobre a justiça, sobre os processos sociais e, até, sobre os pro-
cessos psíquicos e sobre o destino último dos homens(8). Do
mesmo modo, a forma notarial (escrita e formal) decertifi-
cação das situações passa a ser tão utilizada que já se cha-
mou à sociedade europeia moderna a “civilização do papel
selado” (civiltà della carta bollata).
Mas se esta centralidade do imaginário jurídico se expli-
ca pela existência destes processos de mediação, ela relaciona-
se também com a própria centralidade do direito na sociedade
medieval e moderna, uma sociedade que o historiador russo
Abraham Gurevic define, muito justamente, como
“construída sobre o direito198 ”. A sociedade entendia-se, na
verdade, como um universo organizado, em que cada coisa e
cada pessoa tinham o seu lugar, traduzindo-se toda a política
num incessante esforço para manter esta ordem da criação,
garantindo a cada um o seu lugar (ius suum cuique tribuendi).
Já se vê que, neste contexto, todas as situações pessoais e soci-
ais eram entendidas como garantidas pelo direito, como direi-
tos adquiridos (iura quaesita ou radicata) e, assim, o direito to-
197 Hespanha, 1990.
198 Abraham Gurevic, Le categorie della cultura medievale, trad. it., Einaudi,
Torino, 1983.
127
livro_antonio_m_espanha.p65 127 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
mava o lugar da política (de uma política “regulada”) nos con-
flitos entre as pessoas, os grupos ou os reinos.
1.3 A ordem jurídica de Antigo Regime
Ao contrário do que veio a acontecer a partir do mo-
mento em que se passou a conceber o direito como um dis-
curso axiomático e more geometrico ordinatum, a ordem jurí-
dica de Antigo Regime tinha uma arquitectura que desva-
lorizava a norma geral.
Desvalorizava-a, desde logo, quando englobava no con-
ceito mais geral de lei qualquer proposição dotada de autori-
dade, como a afirmação dos sábios. Assim, o Digesto define a
lei, antes de mais, como “commune praeceptum virorum
prudentium consultum” (D.,1,3,1) e esta tradição manteve-
se até muito tarde199 ; era, fundamentalmente, neste sentido
que se falava de “leis” do Corpus iuris, pelo menos nos reinos
não sujeitos ao Imperador, em que o direito romano vigora-
va imperio rationis e não ratione imperii (por império da razão
e não em razão do Império200 ).
Desvalorizava-a, em seguida, na medida em que, na
lógica de construção do ordenamento jurídico, o direito es-
pecial se impunha ao direito geral, em homenagem às ideias,
já expostas, de autonomia dos corpos e de que o regra co-
199 Cf. Siete Partidas: “estabecimientos porque los omes sepan bivir bie, e ordenada-
mente, segun el plazer de Dios” (I, 1, I); “lyeda q(ue) yase enseñamento, e castigo
escripto que liga, e apremia la vida del hombre que no faga mal” (I, 1,4).
200 Sobre o conceito de lei neste período, v., por todos, Gilissen 1988, 291 ss. (e a
minha nota, para Portugal, 318 ss.).
128
livro_antonio_m_espanha.p65 128 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
mum não era outra coisa senão um equilíbrio correcto (uma
recta ratio) das regras particulares. A base textual era, sobre-
tudo, um texto do Digesto que atribuía a cada comunidade o
poder de criar direito próprio (D., 1,1,9). Daqui decorria o
poder estatutário das cidades (ou terras com autonomia
jurisdicional), abertamente reconhecido pela doutrina e, mais
concretamente, pela doutrina e lei portuguesas, que eram unâ-
nimes em reconhecer aos concelhos autonomia estatutária
(de elaborar posturas201 ), ao mesmo tempo que e mostravam
bastante generosas no que respeita à autoridade do costume,
mesmo praeter ou contra legem.
Finalmente, a norma geral estava ainda fortemente des-
valorizada perante o privilégio – que a doutrina, na base de
uma etimologia fantástica ([quasi] priv [ata] lex), definia
como “uma quase lei de natureza particular”. Na verdade,
os privilégios, decorrentes da faculdade imperial e real de
dispensar a lei, constituíam direitos adquiridos (iura quaesita)
ou enraizados (iura radicata) que não podiam ser revogados
por lei geral, pelo menos sem uma expressa referência e com
a invocação do poder extraordinário (potestas extraordinaria
ou absoluta) do rei202 .
Mas a desvalorização da norma não decorria apenas
destes factos relacionados com a teoria da hierarquia das
normas do direito comum. Decorria também do que se pen-
sava então, primeiro, sobre a natureza do processo intelectu-
201 Cf. Ord.fil., I, 66, 29. V.
202 V. infra, IV.5.3.
129
livro_antonio_m_espanha.p65 129 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
al de encontrar o direito (ars inveniendi, Rechtsfindung) e, de-
pois, da relação entre a justiça e outras virtudes.
Quanto ao primeiro aspecto. A doutrina jurídica medi-
eval e moderna cria que o processo intelectual de apreensão
do direito era essencialmente irredutível a regras rígidas, an-
tes se baseando numa arte prática de encontrar a solução
justa de cada caso. E o próprio modo de encontrar esta solu-
ção baseava-se numa técnica intelectual que poderia ser des-
crita como o tactear – guiado por uma longa experiência ju-
rídica (e, mais em geral, da vida) – de soluções diversas, cada
uma das quais inspirada por um certo equilíbrio dos diferen-
tes pontos de vista possíveis. A tópica – ou seja, a arte de en-
contrar os argumentos (os “lugares” [em grego, topoi], as
perspectivas) relevantes em cada caso – desempenhava um
papel fundamental na primeira fase do processo intelectual.
Mas a segunda parte, a hierarquização dos argumentos e o
consequente achamento da solução dependia da sensibilida-
de histórica da comunidade jurídica (do “auditório”). E, nes-
sa medida, o resultado (a decisão) era sempre provisório e o
sistema dos resultados (o “sistema dogmático-normativo” do
direito) era sempre um “sistema aberto”. Daí que as normas
gerais, que constituíam a ossatura desse sistema, fossem sem-
pre consideradas, em primeiro lugar, como pontos de chega-
da, e não como pontos de partida. Depois, como elementos
apenas heurísticos (i. e., que dão sugestões, que a experiência
diz serem válidas para a maior parte os casos), e nunca como
mecanismos de encerramento automático de uma controvér-
130
livro_antonio_m_espanha.p65 130 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
sia. Isto conduzia, como se vê, a um discurso jurídico muito
atento às particularidades de caso e muito pronto a substi-
tuir à solução que decorria do rigor da norma geral (uma
solução, i. e., stricti iur [de direito estrito]) um remédio que
atendesse às particularidades do seu contexto concreto de
aplicação, i. e., um remédio de “equidade”).
O arbítrio do juiz (arbitrium iudicis) desempenhava, por
isso, um papel fundamental na declaração do direito. Não
apenas, como hoje, para decidir questões que não podem ser
decididas em geral (como o cálculo dos danos e da corres-
pondente indemnização), mas em geral, para declarar qual-
quer solução jurídica, mesmo em domínios tão atentos aos
valores da generalidade e igualdade como o direito penal.
Um jurista português escreve, sem qualquer tom de crítica,
nos finais do século XVI:
Hoje, todas as penas estão no arbítrio do juiz, tidas em consi-
deração as circunstâncias dos factos e das pessoas [...] pois as
leis não podem exprimir todas as circunstâncias; e, assim, é
deixada a faculdade ao arbítrio do juiz, segundo a contingên-
cia dos factos e de acordo com o seu arbítrio, de aumentar ou
diminuir as penas [...]. Na verdade, os juízes podem temperar
as penas estabelecidas na lei em razão da amizade, quando a
pena for arbitrária; pois, neste caso, podem agir de forma mais
branda com o amigo, de acordo com as inclinações da sua
consciência (Fragoso, 1641).
Naturalmente, esta situação potenciava muito o poder
do grupo dos magistrados e pode divisar-se uma estratégia
sua no sentido de defender estas prerrogativas contra qual-
131
livro_antonio_m_espanha.p65 131 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
quer programa de “generalização” ou “legalização” da or-
dem jurídica, como o que foi posto em marcha pelos monar-
cas ilustrados da segunda metade do século XVI.
Finalmente, a desvalorização da norma decorre ainda
do parentesco que se julgava existir entre, por um lado, a jus-
tiça e, por outro, virtudes como a misericordia, a clementia e a
gratia. A misericórdia, a clemência e a graça são consideradas
virtudes essenciais do rei – pai e pastor dos seus súbditos, cujo
coração se deveria apiedar a cada aplicação férrea da lei. Se-
nhor da Justiça, como Deus-Pai, o rei era, também, o senhor
do Amor – como Deus-Filho. E isto devia reflectir-se no quo-
tidiano do governo. O perdão e o tempero do rigor da lei pela
sua dispensa (i.e., a concessão de privilégios) são, assim,
massivos na prática política. Constituem o domínio chamado
“da graça”203 , provido de órgãos próprios (em Portugal, o
Desembargo do Paço), e desempenhando uma função política
e legitimadora fundamental, estreitamente ligada a um tópico
central de legitimação das sociedades de Antigo Regime – a
aproximação entre “rei” e “pai” (“patriarcalismo”).
Existiam, é claro, rasgos de um apelo à unidade da or-
dem jurídica. Mesmo no período do ius commune clássico, fun-
cionavam neste sentido a ideia de que existia um “direito co-
mum” com o qual os direitos próprios se deviam harmonizar;
que este direito comum possuía uma lógica global que não podia
ser afastada (ratio iuris, “boa razão”); que os súbditos (do im-
203 Sobre a “graça”, Hespanha, 1993.
132
livro_antonio_m_espanha.p65 132 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
perador, dos reis) tinham uma patria communis e que isso legi-
timava o recurso para uma última instância jurisdicional co-
mum – a curia (imperialis; regia). Mas estas ideias, se anima-
vam eventualmente algum jurista a declarar “odiosos” os pri-
vilégios ou a negar a validade de uma lei, um estatuto ou um
costume por serem contra tenorem iuris rationis (contra os prin-
cípios do direito), não era suficiente para tirar à ordem jurídi-
ca moderna o carácter particularista a que nos referimos.
É só na segunda metade do século XVIII, com o adven-
to de novas ideias (racionalistas, axiomáticas) sobre o direi-
to204 e com o aparecimento de novos projectos políticos de
exaltação da coroa (e da sua legislação) e de consequente
abatimento dos juristas como fonte autónoma de direito que
se imporão medidas tendentes a erigir a lei em primeira fonte
de direito, os “princípios gerais do direito” em fundamento
da ciência jurídica e a obediência cega à lei em norma
deontológia dos juristas205 .
1.4 Recepção do direito comum e centralização do poder
Era, até há pouco, um lugar comum da historiografia
portuguesa (e, em geral, europeia) da Época Moderna a afir-
mação da importância da recepção do direito culto europeu
(o direito comum, ius commune) na centralização do poder.
Hoje, este ponto de vista só pode ser limitadamente aceite.
204 Wieacker 1993, 279 ss.; Gilissen, 1988, 364 ss. Cf, para Portugal, Silva, 1985.
205 Hespanha, 1978.
133
livro_antonio_m_espanha.p65 133 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Por um lado, porque esta recepção não foi, nem tão
geral, nem tão eficaz como se pensava. E, por outro, porque
a própria ordem jurídica letrada não promovia tanto como
se tem dito a concentração dos poderes nas mãos do rei.
Abordaremos, sucessivamente, as duas questões.
A problematização da tese de uma difusão precoce e
decisiva do direito oficial letrado decorre de dois factos.
O primeiro deles é a importância que vem sendo dada
pela historiografia mais moderna (cf. Hespanha, 1983;
Hespanha, 1989, p. 363 ss.) aos mecanismos informais de
normação social (usos comunitários, estilos profissionais, prá-
ticas jurídicas espontâneas de certas actividades sociais, como,
v. g., o comércio, normação implícita na estruturação de redes
sociais), em relação aos quais o direito oficial era muito com-
placente. Esta complacência cifrava-se, por um lado, no reco-
nhecimento de um “direito dos rústicos” (ius rusticorum), pró-
prio das comunidades camponesas, incapazes de penetrar nas
agudezas e subtilezas do direito erudito (in apicibus et subtilitatis
iuris) (cf. Hespanha, 1983). Este direito teria as suas próprias
normas não escritas – nomeadamente em matéria de contra-
tos e de relações agrárias (direitos vicinais, sistemas de cultivos
e regas). Mas, mais do que isso, a sua própria estratégia de
composição dos diferendos, voltada para decisões compro-
missórias (“rustici dividunt per medium quaestiones” os rústi-
cos dividem as questões a meio, Baldus de Ubaldis) e, portan-
to, contraditória com o estilo “adjudicatório” (um vence, ou-
tro perde) do direito erudito. Por outro lado, a abertura do
134
livro_antonio_m_espanha.p65 134 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
direito oficial e erudito em relação a “formas inferiores” de
normação ficava patente no reconhecimento que o costume e
o direito local (postura, statuta) recebiam na ordem jurídica
moderna. Quanto ao costume, é paradigmática a posição de
um grande mestre jurista de Coimbra e Salamanca, Francisco
Suarez (1548-1617) que vai ter uma enorme importância até
ao advento da política iluminista do direito. Embora reconheça
que o costume – de que sublinha a grande autoridade – não
possa impor-se nem à lei, nem à razão, admite, não apenas a
validade dos costumes não contrariados pela lei (praeter legem),
mas ainda uma certa revogabilidade da lei pelo uso (de não a
cumprir) (cf. Hespanha, 1994, p. 356). Na sua esteira, os juris-
tas portugueses206 , embora reconhecendo a primazia, de prin-
cípio, da lei real, admitem a validade do costume, mesmo con-
tra legem, numa longa série de situações (cf. Hespanha, 1994,
p. 363). Questão diferente era a de relevância dos direitos lo-
cais (dos statuta) contra o teor da lei geral. Também aqui, a
posição de princípio da doutrina é favorável à lei do príncipe,
embora as Ord. fil. apenas considerem como nula a postura
feita (i. e., elaborada) em contradição com o disposto na lei,
não se referindo à incompatibilidade substancial (I, 66,29; I,
58,17). Mas, a não ser que houvesse um rescrito real anulatório,
as posturas obrigavam os juízes e oficiais das terras, não po-
dendo sequer ser revogadas pelos corregedores (Hespanha,
206 V., por todos, Amaral 1610, s.v. “consuetudo”. Outras fontes, Hespanha
1994, 356 ss.
135
livro_antonio_m_espanha.p65 135 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
1994, p. 361). E que eles constituíam o direito próprio (ius
proprium) da terra que, de acordo com a arquitectura, do siste-
ma jurídico de então, se impunha ao direito comum (ius
commune) do reino, tal como este, teoricamente, prevalecia so-
bre o direito comum da doutrina europeia.
Também esta lógica de composição “particularista” da
ordem jurídica, a que já nos referimos, jogava contra as po-
líticas de centralização do poder. Na verdade, o princípio
constitutivo fundamental do ordenamento jurídico moder-
no era o de que as normas jurídicas particulares tinham,
sucessivamente, primazia sobre as normas jurídicas gerais.
O fundamento textual para tal princípio era constituído por
um texto do Digesto (Gaius, D., I,1,9), a célebre “lei” omnes
populi, já referido:
todos os povos que se regem por leis e costumes, usam um direi-
to que em arte é seu próprio, em parte comum a todos os ho-
mens. E assim aquele direito que cada povo institui para si cha-
ma-se próprio da cidade [...]. No entanto, aquele que a razão
natural institui entre todos os homens e que entre todos é obser-
vado chama-se direito das gentes [...](9).
Este texto estabelece, de facto, um “particularismo”
mitigado de “racionalismo” que vai ser decisivo na constitui-
ção das regras de composição da ordem jurídica, regras es-
sas que – combinadas com outras respeitantes às relações
entre lei e privilégio (cf. Hespanha, 1994, p. 481) – vão fazer
com que o direito funcione, até ao iluminismo, como um factor
136
livro_antonio_m_espanha.p65 136 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
de periferização dos poderes e de garantia dos privilégios (cf.
infra, IV.5.3.) contra os intentos de centralização.
Mas não era só, “a partir de baixo”, destas realidades
jurídicas particulares, que o direito da coroa era limitado. Ele
era-o também pelo facto, já referido, de o direito real estar li-
mitado “a partir de cima” pelo direito comum e de este esca-
par ao arbítrio do rei. Na verdade, o ius commune (em geral,
todo o direito), antes de ser uma vontade (voluntas), era uma
razão (ratio, proporção, ordem, medida). Daqui que, por um
lado, o direito existisse antes e independentemente da sua vo-
lição por um monarca, constituindo, portanto, um limite da
validade dos comandos emitidos pelo poder. E que, por outro,
o seu conhecimento releve de um saber específico, a ser pros-
seguido por uma categoria específica de letrados, com méto-
dos intelectuais próprios (cf. supra; e Hespanha, 1982, 414 ss.).
Embora venha a reconhecer-se – sobretudo a partir do
século XVI – que o poder real tem razões que esta razão jurí-
dica não pode incorporar (i. e., que à “razão do direito” se
opunha uma “razão de Estado”), o princípio que recolhe mais
sufrágios é o de que o príncipe tem, na sua actividade
normativa, que se conformar com o direito, tal como ele de-
corre dos textos doutrinais e dos conselhos (consilia) dos ju-
ristas207 ). Esta obrigação instituía o direito (nomeadamente,
207 Uma das mais antigas definições de lei na tradição jurídica medieval e moderna
salienta esta necessária intervenção dos juristas na elaboração da lei (“lex est
constitutio populi virorum prudentium consulto promulgata”, Irnério, s,c. XII); a
mesma ideia de que a lei é antes de tudo, um ensinamento e não um comando
aparece nas Siete Partidas de Afonso X (I,1,1):“leyenda que yaze ensefiamento, e
castigo escripto [...]”. Cf. sobre o tema Hespanha 1.982,416 e Gilissen 1988, 318.
137
livro_antonio_m_espanha.p65 137 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
os princípios da grande tradição jurídica do direito comum)
na mais autêntica constituição do reino. E não admira, por isso,
que a teoria política da época tenda a considerar mais decisi-
vo, para a garantia constitucional, a existência de um con-
trolo jurídico da actividade do rei por meio de tribunais do
que o seu controlo político por meio das cortes208 (cf. infra,
IV.5.3.). Isto levava, nomeadamente, à conclusão de que o
rei não podia legislar sem o conselho dos juristas e de que, se
o fizesse, era de presumir que decidira contra a ratio iuris
(“sem o conselho dos [juristas] o príncipe não pode editar
leis, ainda que o possa fazer sem a convocação de cortes”,
escreve o jurista seiscentista Bobadilla, na sua Politica para
corrigedores). Se as coisas se passavam assim no plano da cri-
ação legislativa, muito mais se passavam no plano da
integração e integração do direito, sedes em que os juristas
sempre tiveram uma tendência natural209 para integrar, in-
terpretar e corrigir o direito do reino a partir dos princípios
doutrinais. Tudo isto – e ainda a larga margem de arbitrium
na decisão que a estrutura argumentativa do saber jurídico
lhes atribuía (cf. supra; Hespanha; 1982, p. 408; Hespanha,
1986; Marques, 1992) – explica o lugar político-social central
dos juristas nas sociedades europeias modernas210 .
208 Note-se que a palavra “parlamento” tanto designa um tribunal como uma
assembleia de estados.
209 Note-se, além do mais, que, nas faculdades, não aprendiam o direito pátrio,
mas apenas a tradição doutrinal do direito comum. Em Coimbra, v. g., o ensino
do direito pátrio apenas é (e precocemente) introduzido em 1772.
210 Sobre este vastíssimo tema v. Hespanha, 1982, 418; Hespanha, 1994,516 ss. (e
bibl. aí cit.); mais recentemente, v. os vários artigos incluídos em Sapere e potere...,.
138
livro_antonio_m_espanha.p65 138 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
1.5 O direito português da Época Moderna
Do ponto de vista jurídico, Portugal faz parte, desde o
século XIII aos meados do século XIX, de um vasto espaço
dominado pela tradição jurídica do direito comum (ius
commune). A história do direito português – considerada a
expressão no seu sentido mais restrito – é, portanto, a histó-
ria do direito comum europeu, com algumas especialidades
do direito do reino, mais visíveis nos domínios da organiza-
ção político-administrativa (da coroa, dos concelhos, dos se-
nhorios), do direito penal (em que Portugal dispõe da compi-
lação global mais antiga da tradição jurídica europeia, o Li-
vro V das Ordenações Afonsinas, de 1446) e de alguns ramos
do direito contratual. Mas mesmo estas esparsas áreas de tra-
dição jurídica mais específicas são continuamente corroídas
por um discurso jurídico letrado que ia buscar toda a
utensilagem doutrinal ao direito comum.
No direito português, as relações entre o direito nacio-
nal e o direito comum estavam estabelecidas nas Ord. fil.
(III, 64) em termos que salvaguardavam, teoricamente, a
prevalência do direito pátrio (Ordenações e legislação ex-
travagante) sobre o direito comum (Glosa de Acúrsio, Co-
mentários de Bártolo, opinio communis doctorum)211 . Só que a
prática invertia totalmente a situação, não apenas por se-
rem muitíssimos os temas que o direito próprio do reino não
211 Cf. Hespanha 1982,500 ss. e bibl. aí citada, nomeadamente Silva, 1985,221
ss... e Cruz 1975,241 ss.
139
livro_antonio_m_espanha.p65 139 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
abarcava 212 , mas sobretudo porque, formados em escolas
de direito romano e canónico e dependentes de uma tradi-
ção literária própria destes dois direitos, os juristas corroi-
am continuamente as especialidades do direito pátrio e
aproximavam-no progressivamente das soluções doutrinais
do direito comum, que eles, por outro lado, controlavam.
Daí, que a principal fonte para o conhecimento do direito
efectivamente vigente em Portugal não seja a lei, mas sim
a mole imensa de literatura produzida (e não apenas a
portuguesa) durante os séculos XIV a XVIII(10).
A política pombalina do direito – paralela à de outros
países europeus na mesma época – visa submeter direito e
juristas a um controlo mais estrito da coroa. Esta política de-
senvolve-se em três frentes de reforma – a da legislação, a do
sistema das fontes de direito e a do ensino do direito.
A reforma legislativa – que se traduziu, desde logo, num
aumento muito significativo do ritmo de promulgação de tex-
tos legais (v. Gráfico I [Gilissen, 1988, p. 321] visou transferir
da doutrina dos juristas para a legislação régia a normação
de questões políticas ou socialmente críticas. Alguns dos pre-
âmbulos legislativos exprimem enfaticamente esse desígnio
212 Aquilo a que hoje chamamos “direito privado” (contratos, direito das coisas,
família, sucessões) tinha um tratamento mínimo nas fontes jurídicas pátrias.
E, para muito do “direito público” (v. g., para o tratamento das relações entre
a coroa e os restantes poderes, designadamente a Igreja, para o regime das
doações de bens da coroa, para o regime dos ofícios) era indispensável integrar
eventuais dados da legislação portuguesa no contexto conceitua1 e doutrina1
do direito comum. Sobre a lei em Portugal nesta época, com indicação de
ritmos de edição e temáticas, v. a minha nota em Gilissen, 1988, 318 ss.
140
livro_antonio_m_espanha.p65 140 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
de pôr termo a costumes doutrinais (como o reconhecimento
do direito dos filhos aos ofícios dos pais [L. 22.11.1761] ou a
desnecessidade de consentimento dos pais para o casamento
dos filhos [L. 9.6.1755]) ou de os refundar sob a forma de
normas legais (v. g., a renovação automática dos contratos
enfitêuticos [7.9.1769]). Mas isto era insuficiente enquanto
não fosse modificado o quadro das fontes de direito, pondo
fim à precedência (prática) da doutrina e da jurisprudência
sobre a lei do soberano. É isto que se realiza com a “lei da Boa
Razão” (de 18.8.1769), que acaba com a relevância do direi-
to canónico nos tribunais civis (embora não ponha termo aos
privilégios eclesiásticos de foro [v. infra, IV.2.]), reduz forte-
mente o domínio de aplicação do costume, do direito roma-
no e do direito comum (a “opinião comum dos doutores”) e
limita a força vinculativa dos precedentes judiciais aos “as-
sentos” da Casa da Suplicação213 . No plano da reforma do
ensino do direito, a reforma dos estudos jurídicos de 1772
vem confirmar esta estratégia de privilegiar o direito pátrio
em detrimento da doutrina214 . No entanto, não é ainda ago-
ra que o primado do direito pátrio fica garantido. Ao insistir
na vinculação da política do direito ao “uso moderno do di-
reito romano” e às soluções consagradas nas ordens jurídi-
cas das “nações polidas e civilizadas”, o legislador pombalino
abre a porta à influência do novo direito iluminista (e, poste-
riormente, liberal) dos Estados alemães e italianos e, mais tar-
213 Sobre a “Lei da Boa Razão” v., por todos, Hespanha, 1978, 73 ss.; Silva, 1985, 276.
214 Cf. Hespanha, 1978; Silva 1985, 259; Gilissen, 1988, 370.
141
livro_antonio_m_espanha.p65 141 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
de, da França, cujos códigos tiveram uma aplicação directa
em muitos domínios até à entrada em vigor do Código Civil
do Visconde de Seabra (1867)215 . Ou seja, apesar de o perío-
do pombalino representar uma época de vinculação do di-
reito à política monárquica, ele não realiza ainda aquela ima-
gem d’Épinal, a que se referia a historiografia mais tradicio-
nal, de um direito e de um corpo de juristas funcionalizados
a um projecto político centralizador.
1.6 Orientação sobre fontes e bibliografia
Sobre a história jurídica europeia e suas fontes letra-
das, os manuais hoje mais acessíveis e actualizados são os de
Franz Wieacker (Wieacker, 1980), de John Gilissen (Gilissen,
1988) e de António Cavanna (Cavanna, 1982). Para o direito
canónico, v. António García y Garcia, História del derecho
canónico. I. El primer milenio, Salamanca, 1967 (e bibliografia
aí citada), max., pp. 25-27. V. ainda Hespanha, 1992, p. 58
ss. Para a “recepção” do direito comum (ius commune) euro-
peu em Portugal, ver os manuais de Nuno Espinosa G. da
Silva (Silva, 1985) e A. M. Hespanha (Hespanha, 1982), para
além da nota abreviada em John Gilissen (A. M. Hespanha)
Gilissen, 1988, max., p. 369 ss.).
Sobre as principais fontes (legislativas, doutrinais e
jurisprudenciais), bem como sobre as suas edições, v.
Hespanha, 1992, p. 58 ss.
215 Cf., em síntese, Gilissen, 1988, 370, e bib. aí citada.
142
livro_antonio_m_espanha.p65 142 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Bibliografia citada
AMARAL, António Cardoso do, Liber utlissimus ..., Ulysipone, 1610.
BOURDIEU, Pierre, “La force du droit. Éléments pour une sociologie
du champs juridique”, in Actes de la recherche en sciences sociales,
64(1986.11) pp. 3-19 (trad. porto em P. Bourdieu, O poder simbólico,
Lisboa, Difel, 1990.
CAVANNA, A., Storia del diritto privato moderno in Europa. 1. Le fonti e
il pensiero giuridico, Milano, Giuffre, 1982.
CRUZ, Guilherme Braga da, “O direito subsidiário na história do direi-
to português”, in Revista Portuguesa de História, 14(1975), pp. 177-316.
FOUCAULT, Michel, L’archéologie du savoir, Paris, Gallimard, 1969.
GILISSEN, John, Introdução Histórica ao Direito, Lisboa, Gulbenkian, 1988.
HESPANHA, António Manuel, “Sobre a prática dogmática dos juris-
tas oitocentistas”, in A. M. Hespanha, A História do Direito na História
Social, Lisboa, Livros Horizonte, 1978, pp. 70-149.
HESPANHA, António Manuel, História das Instituições. Épocas medie-
val e moderna, Coimbra, Almedina, 1982.
HESPANHA, António Manuel, “Savants et rustiques. La violence
douce de la raison juridique”, in Ius commune (Max-Planck-Institut f.
europ. Rechtsgeschichte, Frankfurt/Main), 10(1983) 10 ss.
HESPANHA, António Manuel, “Da ‚iustitia‘ à disciplina. Textos,
poder e política no Antigo Regime”, in Estudos em Homenagem ao Prof.
Doutor Eduardo Correia, Coimbra, 1986 (saído) em 1989.
HESPANHA, António Manuel, As Vésperas do Leviathan. Instituições e
Poder Político. Portugal, século XVII, Coimbra Almedina, 1994.
Sapere ele potere. Discipline, dispute e professioni nell università medievale
e moderna. “Atti Del 4º Convegno” (dir. L. Avellini, A. Cristiani, A. de
Benedicitis), Bologna, Comune di Bologna, 1990.
HOLUB, C., Teoria della ricezione, Torino, Einaudi, 1989.
MARQUES, Mário Reis, “Ciência e acção: o poder simbólico do dis-
curso jurídico universitário do período do ‘commune’”, in Penélope, 6
(1992), pp. 63-72.
143
livro_antonio_m_espanha.p65 143 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
* SILVA, Nuno Espinosa G. da, História do Direito Português, Lisboa,
Gulbenkian, 1985.
STOLLEIS, Michael, Geschichte des oeffentlichen Recht in Deutschland.
VoI. I. Reichspublizistik und Policeywissenschaft, 1600-1800, Muenchen,
C. H. Beck, 1988,431.
* WIEACKER, Franz, História do Direito Privado Moderno (trad. port.
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit [...], 1967 (2ª ed.), Lisboa, Gulbenkian, 1993.
Bibliografia sugerida – As obras assinaladas com *.
Notas
(1) Por “sociedade tradicional europeia” entendo, neste contexto, a sociedade
medieval e moderna, mas também a sociedade tradicional camponesa dos
séculos seguintes até à actualidade. A antropologia jurídica actual não deixa
de encontrar um imaginário do mesmo tipo nas sociedades contemporâneas,
nas sociedades fortemente dualistas não europeias, mas ainda no centro do
primeiro mundo. Cf. Boaventura Sousa Santos, “O discurso e o poder. Ensaio
sobre a sociologia da retórica jurídica”, Boi. Fac. Direito de Coimbra, 1979; Richard
Abel, “Theories of 1itigation in society. “Modem” dispute institutions in “tribai”
societies and “tribal” dispute institutions in “modem” society as altemative
legal forms”, in E. Blankenburg (ed.), Alternative Rechtsfformen und Alternativen
zum Recht, Westdeutscher Verlag, 1982, 165-191.
(2) Que inclui, de resto, muitas obras que, em rigor, se poderiam classificar tam-
bém de jurídicas, como, v. g., todos os comentários à “secunda secundae” da
Summa theologica de S. Tomás, nomeadamente das quaestiones – que são a
maioria – em que ele se ocupa das virtudes que têm uma dimensão social,
como a prudência ou a justiça.
(3) Mas encontram-se também no C. J. Cano textos apenas doutrinais (como é o
caso dos textos de Santo Isidoro de Sevilha incluídos no Decretum de Graciano).
(4) Gnósticos ou cabalísticos; mesmo no domínio do direito, existe alguma literatu-
ra de recorte cabalístico (v. g., tratados sobre numerologia jurídica).
(5) Figurando, inclusivamente, como opinião comum, reservando-se para a nova a
designação de “opinião mais recente” (recentior opinio, “hodie autem ...”, “nos
autem ...”) ou, inclusivamente, de “opinião mais comum” (communior opinio).
(6) Nem sempre a ruptura é tão dramática como aqui se supõe. De facto, o novo
ciclo textual (v. g., de comentários à legislação régia, como a série de comentá-
rios às Ordenações portuguesas) pode manter conexões muito fortes com o
anterior, nomeadamente enquanto, para a interpretação do novo texto, se con-
tinua a recorrer à tradição textual mais antiga (no mesmo exemplo, a tradição
do direito comum). Inclusivamente, esta pode reabsorver a nova no seu intertexto.
Isto acontece, utilizando ainda o mesmo exemplo, quando se limita o alcance
dos novos textos legislativos dos “direitos próprios” em função do conteúdo
da tradição do “direito comum”.
144
livro_antonio_m_espanha.p65 144 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
(7) De alguma maneira, funcionam como, num programa informático, as ordens
que invocam procedimentos (i. e., programas independentes) destinados a
produzir um “valor de retorno” que será posteriormente incorporado e traba-
lhado pelo programa principal.
(8) Assim, o “juízo”, como processo regulado e contraditório de decidir uma
questão, é usada para descrever os jogos amorosos entre dois amantes (v. g., os
“juízes de amor” dos trovadores provençais), as tensões entre o prazer e o
dever, o destino da alma depois da morte (cf., o “Juízo Finai”).
(9) Discutia-se qual o âmbito que devia ser dado ao conceito de “populus”. Uns
autores inclinavam-se para exigir a organicidade da comunidade (cf. Francisco
Rodrigues, Materia de legibus (1594), ms. 5 107 BNL (publ. e, Francisco Suarez,
De legibus, ed. “Corpus hispanorum de pace”, Madrid 1971,271. Outros (era a
opinião dominante) exigiam que se tratasse de comunidades “perfeitas” (i. e.,
com capacidade para se autogovemarem) (ibid., 267 ss.; Francisco Suarez, De
legibus, I, 6, 19); outros, finalmente, devolviam a questão para a ordem jurídica
positiva, que poderia conferir poderes estatutários a comunidades que, aliás,
não os teriam (ibid., 272/3).
(10) Para a literatura portuguesa e seus géneros, V. Hespanha, 1982,511 ss. e bib. aí
citada. Catálogo detalhado, com obras impressas e manuscritas, no banco de
dados automatizado S. I. L. A. (Instituto de Ciências Sociais, Lisboa); algumas
indicações sobre literatura estrangeira em Gilissen, 1988, 337 ss.; para uma
bibliografia exaustiva, v. H. Coing (ed.), Handbuch der Quellen und Literatur der
neueren europäeischen Privatrechtsgeschichte, vol. II, Muenchen, C.H. Beck, 1976.
145
livro_antonio_m_espanha.p65 145 11/11/2005, 03:02
livro_antonio_m_espanha.p65 146 11/11/2005, 03:02
PARTE IV
OS PODERES
livro_antonio_m_espanha.p65 147 11/11/2005, 03:02
livro_antonio_m_espanha.p65 148 11/11/2005, 03:02
1. A FAMÍLIA
Objectivos da aprendizagem
Quando terminar esta unidade, o aluno deve ser capaz de:
• Explicar o carácter naturalmente regulado das re-
lações familiares na sociedade de Antigo Regime e
as consequências normativas desta ideia;
• Avaliar a área de expansão do “modelo domésti-
co” como paradigma de organização política;
• Identificar os princípios estruturais do imaginário
da família – naturalidade, unidade, honestidade;
• Caracterizar os traços gerais do regime do poder
paternal, dos deveres dos filhos e da sua capacidade
patrimonial, dos deveres da mulher, da transmissão
do património familiar, da situação dos criados.
A imagem da família e do mundo doméstico – como
grupo humano e como universo da afectividade – está pre-
sente por todo o lado no discurso social e político da socie-
dade de Antigo Regime. É invocada a propósito das rela-
ções entre o Criador e as criaturas, entre Cristo e a Igreja,
entre a Igreja e os fiéis, entre o rei e os súbditos, entre os ami-
livro_antonio_m_espanha.p65 149 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
gos, entre o patrão e os seus criados, entre os que usam o
mesmo nome e, evidentemente, entre os que partilham o
mesmo círculo doméstico.
O carácter modelar desta imagem provinha, desde logo,
do facto de ela constituir uma experiência comum a todos.
Todos tinham uma família. E, para além disso, todos a ti-
nham como um facto natural, i. e., fundada em relações e
sentimentos que pertenciam à própria natureza das coisas.
Relações e sentimentos que, por isso mesmo, eram iguais em
todas as famílias, porque eram independentes da vontade
dos seus membros.
Uma reconstituição do universo mental e institucional
da família de Antigo Regime tem, portanto, que começar por
aqui, pela sua naturalidade.
1.1 Uma comunidade natural
Nem o advento de uma concepção individualista da
sociedade veio destruir a ideia de que a família constituía
uma sociedade naturalmente auto-organizada. Um as-
sento da Casa da Suplicação da segunda metade do sécu-
lo XVIII é típico desta insularidade da família, concebida
ainda como um todo orgânico, no seio de uma sociedade
já imaginada como um agregado de indivíduos mutuamen-
te estranhos e desvinculados:
He regra, e preceito geral de todos os Direitos, Natural, Divino,
e Humano, que cada hum se deve alimentar, e sustentar a si
mesmo; da qual Regra, e Preceito geral só são exceptuados os
150
livro_antonio_m_espanha.p65 150 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
filhos, e toda a ordem dos descendentes; e em segundo lugar os
pais, e toda a serie dos ascendentes.216
A mesma ideia aparece numa interessante e pouco re-
ferida obra de António da Natividade (Natividade, 1653)
onde, embora – como se dirá – se opine que, no interior da
família, não há lugar a falar de deveres jurídicos recíprocos,
se reconhece, porém, que
o direito economico, patriarcal ou da casa, que se exerce com o
fundamento na piedade, é mais exigente e devido, do que o
político, pois existe em virtude da unidade que existe entre o
ecónomo e os membros da casa.217
Esta concepção organicista da família radicava em re-
presentações muito antigas, mas sempre presentes, sobre o
especial laço com que a natureza ligara os seus elementos
por normas inderrogáveis.
1.2 Carne de uma só carne
A família tinha o seu princípio num acto cujo carácter
voluntário a Igreja não deixava de realçar, sobretudo na
sequência do Concílio de Trento (1545-1563), onde se estabe-
lecera, enfaticamente, que “a causa eficiente do matrimónio
é o consentimento” (Cone. Trident., sess. 24, cap. 1, nº 7). Um
consentimento verdadeiro e não fictício, livre de coacção e
de erro e manifestado por sinais externos, requisitos com os
216 Cit. por Lobão, 1828.
217 Op. IV, cap. 3, n. 8, 111.
151
livro_antonio_m_espanha.p65 151 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
quais se pretendia pôr freio, tanto às pretensões das famílias
de se substituírem aos filhos na escolha dos seus companhei-
ros, como às tentativas dos filhos de escapar a estes cons-
trangimentos casando secretamente.
Mas, dado o consentimento, pouco restava, no plano
das consequências do casamento, que não decorresse for-
çosamente da própria natureza da instituição que ele fi-
zera surgir – o estado de casado, a família. A teologia cris-
tã explicava este paradoxo de um acto de vontade dar lu-
gar a consequências de que a vontade não podia dispor,
concebendo a vontade de casar apenas como uma matéria
informe a que a graça divina vinha dar uma forma (i. e.,
consequências) determinada218 .
A primeira destas consequências era a obrigação, para
os dois cônjuges, de se entregarem um ao outro, gerando
uma unidade em que ambos se convertiam em carne de uma
só carne (“Erunt duo in una caro – [serão os dois uma só
carne], Génesis, 2). Esta união mística dos amantes já ocorria
pelo facto mesmo do amor que, de acordo com a análise psi-
cológica dos sentimentos empreendida pela escolástica, fa-
zia com que a coisa amada se incorporasse no próprio aman-
te 219 , ideia a que Camões se referia no conhecido soneto
218 A definição do casamento como um sacramento (causativum gratiae unitivae,
causador da graça da união) foi feita no concílio de Florença, de 1438.
219 “Ex hoc quod aliquis rem aliquam amat, provenit quaedam impressio, ut
ita loquatur, rei amatae in affectu amantis, sicut intellectum in intelligente”
(do facto de alguém amar alguma coisa provém uma espécie de impressão –
por assim dizer da coisa amada no afecto do amante, semelhante à da coisa
apreendida intelectualmente naquele que a apreende”, Summa theologica, I,
qu.37, p.267.2).
152
livro_antonio_m_espanha.p65 152 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
“Transforma-se o amador na coisa amada ...”. A união
conjungal não era, de resto, senão uma repristinação de uma
unidade originária, pois (e esta distinção não deixará de
marcar o imaginário das relações entre os sexos) a mulher
saíra do corpo do homem, reintegrando-se, com o
matrimónio, no plano espiritual, essa comunidade corpórea.
Mas, com o casamento, esta unificação dos amantes
ganhava contornos físicos, pois os cônjuges ficavam – pas-
sados dois meses de reflexão, o bimester, em que nenhum
deles podia ser forçado à consumação carnal do casamen-
to(1) – a dever um ao outro a entrega corporal (traditio
corporis), tornando-se tal entrega moral e até juridicamente
exigível (debitum conjugale)(2).
Justamente porque se enraizava na natureza, o
matrimónio devia ter um uso honesto; ou seja, devia consistir
em práticas (nomeadamente sexuais) cuja forma, ocasião,
lugar, frequência, não dependiam do arbítrio ou do desejo
dos cônjuges, mas de imperativos naturais. Assim, a mútua
dívida sexual dos esposos tinha uma medida: medida que se
fundava num critério que, também ele, não dependia da von-
tade dos cônjuges, mas das finalidades naturais e sobrenatu-
rais do casamento. Segundo a teologia moral da época, as
finalidades do casamento eram: (i) a procriação e educação
da prole; (ii) a mútua fidelidade e sociedade nas coisas do-
mésticas; (iii) a comunhão espiritual dos cônjuges e (iv) –
objectivo consequente à queda do género humano, pelo pe-
cado original – o remédio contra a concupiscência.
153
livro_antonio_m_espanha.p65 153 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
São justamente estas finalidades e a sua hierarquia que
explicam o conteúdo dos deveres mútuos dos cônjuges, no-
meadamente no plano da disciplina da sexualidade matrimo-
nial. Assim, o facto de a reprodução aparecer como a finali-
dade principal do casamento implicava que a sexualidade
apenas fosse tida como natural desde que visasse este fim.
Seriam, desde logo, contra natura todas as práticas sexuais que
visassem apenas o prazer220 , bem como todas as que se afas-
tassem do coito natural e honesto – vir cum foemina, recta positio,
recto vaso (homem com mulher, na posição certa221 , no “vaso”
certo). Daí a enorme extensão dada ao pecado (e ao crime) de
sodomia, que incluía não apenas as práticas homossexuais,
mas ainda todas aquelas em que, nas relações sexuais, se im-
pedisse de qualquer forma a fecundação. Mas, mesmo que
“natural”, a sexualidade matrimonial não devia estar entre-
gue ao arbítrio da paixão ou do desejo, antes se devendo manter
nos estritos limites do honesto. Assim, a sexualidade – e, par-
ticularmente, a sexualidade da mulher – era drasticamente
regulada por aquilo a que os teólogos e moralistas chamavam
220 “Copula [vel osculi, amplexus, tactus vel delectatio memoriae] ex sola
delectatione [...] habet finem indebitum” (a cópula, beijos, abraços, afagos ou
o deleite pelas recordações que visem apenas o prazer têm um fim indevido), S.
José, 1791, tr. 34, n. 149 e 156 ss.
221 Sobre a gestualidade sexual, v. S. José, 1791, tr. 34, ns. 158 ss.: condenação de
todas as posições sexuais diferentes daquela que veio a ser conhecida como a
“posição do missionário” (amantes deitados, voltados um para o outro, com
o homem por cima). Tal opção não era arbitrária, mas antes justificada com
argumentos ligados à natureza e finalidade do coito humano: na verdade, esta
posição seria a que melhor garantiria a fecundação, denotava a superioridade
do homem e, pondo os amantes de frente um para o outro, realçava a dimen-
são espiritual do acto.
154
livro_antonio_m_espanha.p65 154 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
o “uso honesto do casamento”. O coito não devia ser prati-
cado sem necessidade ou para pura satisfação da concupis-
cência, antes se devendo observar a moderação (S. José, 1791,
tr. 34, ns. 158/160). Em rigor, devia terminar com o orgasmo
do homem, pois, verificado este, estavam criadas as condi-
ções para a fecundação. Tudo o que se passasse daí em diante
visava apenas o prazer, sendo condenável(3). Os esposos de-
viam evitar, como pecaminosas222 , quaisquer carícias físicas
que não estivessem ordenadas à prática de um coito honesto.
Pecado grave era também o deleite com a recordação ou ima-
ginação de relações sexuais com o cônjuge (5. José, 1791, tr.
34,163). Para além disso, o coito podia ser desonesto quanto
ao tempo223 e quanto ao lugar224 .
É certo que, não sendo a procriação a única finalidade
do casamento, estes princípios acabavam por sofrer algumas
restrições. Admitia-se, por exemplo, que os cônjuges pudes-
sem fazer entre ambos voto de castidade, sacrificando as fi-
nalidades terrenas da sua vida em comum (procriação e
adjutório mútuo) a um objectivo de natureza puramente es-
piritual – a união das suas almas até à morte. Ou que se exce-
dessem os limites honestos do débito conjugal, para evitar
que, levado pelos impulsos da sensualidade, um dos cônju-
ges fosse levado a pecar, satisfazendo-os fora do matrimónio.
222 Constituíam pecado venial (ou mortal, no caso de fazerem correr o risco de
ejaculação) (S. José, 1791, tr. 34, n. 158).
223 Durante a menstruação, a gravidez e o puerpério (S. José, 1791, tr. 34, ns.
150153), durante a Quaresma e dias santos de guarda (ibid., 150).
224 Em lugar público ou sagrado (salva necessita te ...); o mesmo valia para as
carícias (S. José, 1791, tr. 34, n. 156).
155
livro_antonio_m_espanha.p65 155 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
1.3 Uma comunidade fundada no amor
Esta união entre os cônjuges gerava, porém, vínculos
suplementares, tecendo entre todos os elementos da famí-
lia uma rede afectiva a que os moralistas chamavam piedade
familiar, mas que os juristas não deixavam de classificar como
direito, um direito de tal modo enraizado na natureza que
até das feras era conhecido (“vemos que também os outros
animais, e até as feras, parecem ter conhecimento deste di-
reito”, escreve o jurista romano Ulpiano, num texto muito
conhecido do início do Digesto [D.,I,1,13]).
O amor fora longamente tratado pela teologia moral
clássica. S. Tomás, na Summa theologica, aborda o tema em
diversos contextos. Mas aqui interessa-nos mais em concreto
o amor ou piedade familiar, que se desdobrava em vários
sentimentos recíprocos.
O amor dos pais pelos filhos, superior a todos os ou-
tros, funda-se no sentimento de que os pais se continuam nos
filhos225 . Estes são, assim, uma extensão da pessoa de quem
lhes dá o ser, ou seja, são a mesma pessoa, daí se explicando
que os juristas façam, por um lado, repercutir directamente
na pessoa do pai os actos (v. g., aquisições, dívidas, injúrias)
dos filhos; que, por outro, não admitam, em princípio, negó-
cios entre pais e filhos; e que, finalmente, considerem, para
225 “Amor parentum descendet in filios, in quibus parentibus vivunt, &
conservantur [...] Filii sunt eadem persona cum patre” (o amor dos pais pro-
longa-se nos filhos, nos quais os pais vivem e se conservam [...] Os filhos são a
mesma pessoa do pai), escreve Baptista Fragoso (citando Bártolo, séc. XIV),
Fragoso, 1641, III, 1. 1, d. 1, § 1, n. 2/3.
156
livro_antonio_m_espanha.p65 156 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
certos efeitos sucessórios, os filhos do pai pré-falecido como
sendo o próprio pai.
Dado que a mesma identidade se verificava entre o
marido e a mulher, a família constitui um universo totalitá-
rio, em que existe apenas um sujeito, apenas um interesse,
apenas um direito, não havendo; no seu seio, lugar para a
discussão sobre o meu e o teu (a “justiça”), mas apenas para
considerações de oportunidade, deixadas ao arbítrio do bonus
pater famílias (a “oeconomia”)(4).
1.4 As hierarquias do amor
Amor que gera identidade. Mas nem os amores deixa-
vam de ter, no seio da família, as suas hierarquias, nem a
identidade obliterava gradações nos direitos e deveres dos
membros da família.
Quanto ao amor, discutia-se se o amor conjugal era mais
forte do que o amor pelos filhos(5). Que o pai amava mais os
filhos do que a mulher parecia provável, pois o amor conju-
gal, se não era apenas um arrebatamento sensual (uma affectio
sensitiva, menos duradoura e profunda, segundo S. Tomás,
do que a afeição charitativa pelos filhos gerados), explicava-se
de forma indirecta, pelo facto de a esposa ser a mãe dos filhos,
o “princípio da geração”. Mas, curiosamente, daqui partiam
as correntes da teologia moral (v. g. Tomás de Vio Caietanus)
que, na Época Moderna, revalorizaram o amor conjugal na
hierarquia dos sentimentos intrafamiliares, salientando (mui-
to à maneira escolástica) que, sendo a causa mais importante
157
livro_antonio_m_espanha.p65 157 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
do que a consequência, o amor pela esposa não podia deixar
de suplantar o amor pelos filhos(6). E o amor da mãe pelos
filhos? Seria mais forte do que o do pai? Se o amor andasse
ligado ao penar, decerto que sim, pois a mãe penava antes do
parto o peso do ventre; durante, as dores; e após, os trabalhos
da criação (“ante partum onerosus, dolorosus in partu, post
partum laboriosus”, Fragoso, 1641, p. III, 1. 1. d. 1. § 2, n. 15).
Mas, se amor da mãe é mais intenso, o do pai é mais forte e
mais constante. Mais forte, pois o pai é o princípio da geração,
infundindo a forma numa matéria aliás inerte e informe226 .
Mais constante, pois se o amor da mãe é muito intenso na
intimidade da infância, é o do pai que, ao longo de toda a
vida, proporciona os exemplos de conduta (“o filho sai à mãe
no que respeita ao estado e condição [físicos]; mas segue o pai
quanto às qualidades honoríficas e mais excelentes”, Fragoso,
1641, p. III, 1. 1, d. 1, § 2, n. 18).
Este imaginário dos sentimentos familiares constitui
o eixo da economia moral da família de Antigo Regime e do
seu estatuto institucional. As suas grandes linhas – natura-
lidade, preferência dos laços generativos (agnatícios, de “pa-
rentesco”) aos laços conjugais (cognatícios, “de afinidade”),
organicidade e unidade da família, sob a égide do pater – estão
pré-determinados por esta antropologia do amor familiar.
226 “O pai é o princípio nobre, ministrando a mãe na geração do homem a matéria
informe do corpo, que por virtude do sémen do pai é formada e disposta de
forma racional”, S. Tomás, Summa theologica, IIa.IIae, q. 16, art. 10, ad prim.).
158
livro_antonio_m_espanha.p65 158 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
1.5 A família, comunidade generativa
Natural é o amor entre os esposos. Mas natural é tam-
bém a sua primordial ordenação em relação à procriação.
Daí que, contrariamente a algumas tradições que vinham do
direito romano, o elemento estruturante da sociedade fa-
miliar seja o facto natural da geração, quaisquer que fos-
sem as condições jurídicas em que ela tivesse lugar. Assim,
filhos são, antes de mais, os que o são pelo sangue, indepen-
dente de terem nascido na constância do casamento. Isto é
particularmente verdade em Portugal, onde (contra a regra
do direito comum), os filhos naturais de plebeus estão equi-
parados aos legítimos, pelo menos no plano sucessório
(Ord.fil., IV, 92); já os dos nobres, embora adquiram a quali-
dade nobre do pai e tenham direito a alimentos, carecem de
legitimação para herdar227 . Mas quanto à principal obriga-
ção dos pais – o sustento e a educação – filhos eram todos, os
legítimos, os ilegítimos e até com alguma limitação(7), os es-
púrios (i. e., aqueles cujos pais não eram nem poderiam ser
casados, por existir entre eles algum impedimento não
relevável [impedimento impediente], como o estado clerical
ou um prévio casamento com outrem)228 .
227 Cf. Fragoso, 1641, Ibid., n.177.
228 Para além dos naturais, filhos eram ainda os que tivessem sido objecto de
adopção, nos termos de institutos que vinham do direito romano, onde tinham
tido grande difusão. Cf., Fragoso, 1641, p. III, 1. 1, d. 2, § 7; Pascoal de Melo,
1789, II, 5, 9; a adopção, por ser uma graça “contra direito” deve ser confirma-
da pelo rei (i. e., pelo Desembargo do Paço, Ord. fil, I,3,1). Sobre a adopção na
história do direito europeu, Gilissen, 1988, 614 e 623.
159
livro_antonio_m_espanha.p65 159 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Esta ideia de que o pátrio poder anda ligado à geração (e
não à impossibilidade de os filhos se governarem a si mesmos)
faz com que, no direito português, ele seja tendencialmente
perpétuo, não se extinguindo pela maioridade do filho, que
pode continuar in potestate até à velhice. Na verdade, o poder
paternal só terminava com a emancipação paterna ou com o
casamento do filho (cf. Ord. fil., I, 88, 6), bem como com a
assunção, pelo filho, de certos cargos ou dignidades (v .g., epis-
copal, consistorial, judicial)(8). Mesmo a morte do pai, não era
suficiente, colocando o filho alieni iuris (i. e., sujeito ao pátrio
poder) sob a patria potestas do avô ou, na falta deste, de um
tutor ou curador, sendo menores ou incapazes.
É também este carácter natural e “generativo” da fa-
mília que traça os limites do seu âmbito como grupo soci-
al. Assim, se a família, em sentido estrito, engloba apenas os
que se encontram sujeitos aos poderes do mesmo paterfamilias,
já em sentido lato – que era o do direito canónico229 , depois
recebido, para certos efeitos, pelo direito civil- abarca todas
as pessoas ligadas pela geração (agnados) ou pela afinidade
(cognados), ligando-as por laços morais e jurídicos que
Sammuel Coceius, já no período iluminista, sintetiza do se-
guinte modo: “Deste estado da família decorrem vários di-
reitos. Assim, 1º, todos os privilégios que aderem à família,
também pertencem aos agnados, do mesmo modo que o uso
229 O direito canónico alargava ainda a noção de família – e alguns dos corres-
pondentes deveres – aos pais espirituais, condição que se adquiria pelo baptismo,
confissão e crisma, além de incluir também os tutores e os mestres (Fragoso,
1641, p. III. 1. 1, d. 1, §4, n.50).
160
livro_antonio_m_espanha.p65 160 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
do nome e dos brasões, etc.; 2º, as injúrias feitas à família
podem ser vingadas também por eles, 3º, os membros da fa-
mília devem defender aqueles que não o podem fazer, pois
nisto consiste a tutela legítima” (Jurisprud. naturalis et romanae
novum systema, 1742, §l, 138 ss.). Tudo isto tinha correspon-
dente no direito português230 .
Esta concepção alargada da família 231 , fundada em
princípios generativos e linhagísticos – e a que era sensível,
sobretudo, o grupo nobiliárquico – corresponde, basicamen-
te, ao conceito de linhagem.
Mas já nada tem a ver com o conceito de família
alargada, como comunidade de vida e de bens de todos os
irmãos e descendentes que se pensa poder ter existido em
comunidades rurais, favorecida pela existência de baldios e
pastos comuns e pelo sistema de encabeçamento da enfiteuse.
As Ordenações (IV, 44,1) prevêm este tipo de sociedade uni-
versal; mas ela não pertencia, claramente, ao universo com
que os juristas letrados lidavam. Os mais tardios, conside-
ram-na extravagante e exótica(9); os mais antigos pouca aten-
ção lhe dedicam (aparte o caso da comunhão geral de bens
entre os cônjuges, que era o regime matrimonial “segundo o
costume do reino”, Ord.fil., IV,46, pr.; 95).
230 Dever de auxílio mútuo (cf. Ord. fil, v. 124,9), direitos sucessórios (Ord. Fil,
IV, 90,94, pr., 96), direito de reagirem judicialmente contra a usurpação de
armas e apelidos (Pegas, 1685, v. c. 116).
231 Que alguns estendem até ao ponto de abranger o dever de ser útil aos vizinhos
(Natividade, 1653, op. v. cap. 13.).
161
livro_antonio_m_espanha.p65 161 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
1.6 A economia dos deveres familiares
Se todo este grupo estava ligado por deveres recípro-
cos, mais estritos eram, porém, os deveres entre pais, filhos
e cônjuges232 .
Os principais deveres do pater familias para com os fi-
lhos eram: (i) o de os educar, espiritualmente(10), moralmen-
te233 e civilmente, fazendo-lhes aprender as letras (pelo me-
nos os estudos menores), ensinar um ofício e, caso nisso con-
corressem as qualidades da família e as aptidões do filho,
estudos maiores(11); (ii) prestar-lhes alimentos, nisso se in-
cluindo a bebida, a comida, a habitação e tudo o mais que
pertence ao sustento, como o vestir, calçar e medicamentos234 ;
a dotá-los para matrimónios carnais ou religiosos235 .
Por sua vez, os filhos deviam aos pais gratidão, obe-
diência e obséquios 236 . O dever de gratidão obrigava os
filhos, ainda que naturais ou espúrios, a ajudar os pais
necessitados, quer em vida, ministrando-lhe o auxílio de
que carecessem, quer depois de mortos, fazendo-lhe as exé-
quias e dando-lhes a sepultura, de acordo com a sua qua-
lidade e assegurando missas por suas almas237 . Mas impe-
dia, além disso, por exemplo, que o filho acusasse o pai em
juízo ou que o matasse, ainda que para defender um ino-
232 Cf. Natividade 1653, op. v. per totum.
233 Ibid., § 8 e III, 1.1, d. 1, § 4, n. 52, 15 (sobre a moralidade das filhas).
234 Fragoso, 1641, III, L.l, d.2, § 1; Natividade 1653, op. IX; Lobão, 1828, § 1 ss.
235 Fragoso, 1641; Natividade, 1653, op. XI; Lobão, 1828, § 56.
236 Cf. Natividade, 1653, op. V.
237 Fragoso, 1641, III, 1 1. 1, d. 2, § 8, ns, 226/227, 65; e 1. 2, d. 3, § 2, n. 44, 86.
162
livro_antonio_m_espanha.p65 162 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
cente 238 . O dever de obediência obrigava-os a respeitar e
acatar as decisões dos pais239 .
1.7 Obediência e liberdade pessoal
Em alguns aspectos fundamentais, o concílio de Trento
veio minar este dever de obediência dos filhos, ao sublinhar o
carácter essencialmente voluntário dos actos relativos à fé,
no número dos quais entravam, no entanto, alguns de gran-
de relevo externo. Assim, pune com a excomunhão qualquer
pessoa (e, portanto, também os pais) que force outra a tomar
o estado religioso (sess. 25, de reformat, cap. 18).
Mas o mesmo se passa quanto a decisões ainda mais
críticas para a política familiar – as relativas ao casamento.
O Concílio enfatiza, de facto, o carácter livre e voluntário do
matrimónio. Daí que fulmine com a excomunhão quem atente
contra a liberdade matrimonial e dispense os párocos de se
assegurarem da autorização dos pais dos nubentes, já que
este requisito podia impedir uniões queridas pelos próprios
(sess. 24, de reformat., c. 1).
Por isso é que os direitos dos reinos, mais atentos aos
interesses políticos das famílias do que ao carácter pessoalíssimo
das opções de vida, continuavam a proteger o poder paternal.
É este o sentido da legislação de vários reinos europeus que,
238 Ibid., III, 1. 1, p. 1, d. 1, § 2, n. 21.
239 Em contrapartida, o pai podia castigar os filhos desobedientes, embora – tal
como no caso da mulher – nos limites de uma moderata domestica correctio, não
lhes causando feridas, mutilações ou a morte.
163
livro_antonio_m_espanha.p65 163 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
sobretudo a partir dos meados do século XVIII, punem severa-
mente os nubentes que desobedeçam a seus pais.
Em Portugal, as Ordenações deserdavam as filhas meno-
res (de 25 anos) que casassem contra a vontade dos pais (Ord.
fil., IV, 88, 1); e, em complemento, puniam com degredo quem
casasse com mulher menor sem autorização do pai (ib., v. 18).
Mas as disposições liberalizadoras do Concílio, difundidas por
teólogos e canonistas, influenciaram decisivamente párocos e
tribunais, chegando os juristas a discutir a legitimidade destas
leis régias que, indirectamente, coarctavam a liberdade do
matrimónio. No tempo de D. João V causou escândalo o facto
de o Patriarca de Lisboa ter ido buscar a casa de seus pais,
para a proteger das imposições destes, uma donzela que que-
ria casar sem o consentimento parental240 .
Isto não podia deixar de perturbar a disciplina famili-
ar, com tudo o que isso tinha de subversivo, no plano das
relações pessoais entre pais e filhos, mas também no do
controlo paterno das estratégias de reprodução familiar. Já
as Cortes de 1641 tinham sido sensíveis a esta quebra da auto-
ridade paterna na escolha dos esposos dos filhos. Mas é na
segunda metade do séc. XVIII – quando se procura uma nova
disciplina da república e da família – que a reacção contra esta
“laxidão” se toma mais forte241 . Numa diatribe242 contra a
240 Cf. Chaves, 1989,203.
241 V. anedotas sobre o tema em “Descrição de Lisboa [...]. 1730”, Chaves, 1989, 64.
242 Bartolomeu Coelho Neves Rebelo, Discurso sobre a inutilidade dos esponsaes dos
filhos celebrados sem consentimento dos pais, Lisboa, 1773.
164
livro_antonio_m_espanha.p65 164 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
difusão desta “Moral relaxada, opposta a todos os princípios
da Sociedade civil”, Bartolomeu Rebelo descreve a situação
de “libertinagem” a que tinha conduzido a doutrina de Trento,
propagada pelos teólogos “jesuítas”(12) e propõe o retomo a
uma rigorosa disciplina familiar, em que a matéria das núpci-
as seja da exclusiva responsabilidade dos pais
sem attenção alguma aos filhos, os quaes só se contemplão,
como ministros e executores da vontade paterna [...] Donde se
segue com infallivel certeza, que competindo aos Pais a escolha
dos cazamentos, devendo estes attender às qualidades dos
Espozos e Espozas, que buscão para seus filhos, não devem
estes intrometer-se ao Officio paterno [...] (pp. 21-23).
Este autor não exprimia uma opinião isolada, nem a
que a própria Igreja fosse insensível. Os teólogos começavam
a revalorizar o valor da obediência, considerando que os
casamentos não consentidos pelos pais eram frequentemen-
te ilícitos e pecaminosos, por desobediência aos pais, sobre-
tudo quando estes casassem indignamente, pois tais casamen-
tos “seriam fonte de ódios, rixas, dissídios e escândalos”243 .
Bento XIV publicara (em 17.11.1741) uma encíclica que ate-
nuava os cuidados tridentinos pela liberdade matrimonial. E
o Patriarca de Lisboa enviara, no início dos anos setenta, uma
circular aos párocos, recomendando-lhes que se asseguras-
sem do consentimento dos pais (Bartolomeu Rebelo, Discur-
so..., XV). Em 1772 (9.4), a Casa da Suplicação tomara um
243 S. José, 1791, tr. 34, II, n.71.
165
livro_antonio_m_espanha.p65 165 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
assento duríssimo, ampliando a Ord. IV, 88 244 . A lei de
9.6.1775 ratifica esta orientação, deserdando os filhos e fi-
lhas (sem limite de idade) que casem sem consentimento dos
pais, para além de reforçar as penas já estabelecidas nas Or-
denações contra os sedutores.
1.8 Política das famílias e política da república
Mas se a política pombalina da família visava este
objectivo de firmar a sua autoridade e disciplina interna,
visava ainda outros de “política social”, como o de lutar
contra o pronunciado casticismo das famílias nobres245 e
contra a tendência para os pais exercerem um “poder despó-
tico” sobre os filhos, negando “absoluta, o obstinadamente
os consentimentos ainda para os matrimonios mais uteis [...]
em notorio prejuizo das Familias, e da Povoação, de que de-
pende a principal força dos Estados”. Daí que o rei, “como
Pai Commum dos [...] Vassalos”, cometa ao Desembargo do
Paço, pela lei de 29.11.1775, o suprimento da autorização
paterna para os casamentos da nobreza de corte, dos comer-
ciantes de grosso trato ou nas pessoas nobilitadas por lei; e
aos corregedores e provedores, o suprimento desta autoriza-
ção no caso dos casamentos de artífices e de plebeus.
244 Pois, além da deserdação das filhas, nos termos aí consignados, cominava
ainda a deserdação dos filhos, qualquer que fosse a sua idade (!), que se
casassem, fosse com quem fosse, indigno ou digno, sem consentimento dos
pais (Collecção chronologica dos assentos..., ass. 282).
245 Cf., v. g., as leis abolindo a distinção entre cristãos velhos e cristãos novos,
25.5.1773 e 15.12.1 774; e o dec. contra os “puritanos” de 1768.
166
livro_antonio_m_espanha.p65 166 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Mas, de novo, a lei de 6.10.1784 reforça o controlo dos
pais sobre os esponsais dos filhos, obrigando a que estes in-
tervenham expressamente na escritura da sua celebração (nºs
1 e 2) e neles dêem o consentimento (n.º 4). Só que, como
compensação, se restringe a obrigatoriedade do consentimen-
to aos esponsais dos filhos menores de 25 anos, para além de
que se mantém a possiblidade de suprir a autorização, nos
termos da lei de 29.11.1775(13).
1.9 Uma comunidade de bens e de trabalho
Embora não seja fácil classificar a família portuguesa
de Antigo Regime – pelo menos como o direito oficial a defi-
ne – como uma comunhão alargada de pessoas e de bens,
existem deveres de cooperação de todos na valorização do
património familiar.
Um deles era o dever de obséquio dos filhos, que con-
sistia na obrigação de prestarem ao pai a ajuda e trabalho
gratuitos de que ele carecesse. No caso de estarem sob a sua
patria potestas, este dever era irrestrito (ad libitum, qui totum
dicit, nihil excipit), obrigando a trabalhos que, prestados a
outrem, seriam pagos. Já no caso dos filhos emancipados, se
entendia que esta obrigação não abrangia os trabalhos que
requeressem arte ou indústria246 .
Também no domínio das relações patrimoniais, a regra
geral (mas, até certo ponto, também caricatural) era a de que,
246 Fragoso, 1641, III, 1. l0, d. 22, § 5, ns. 117/118, p. 650; Lobão, 1628, § 22 (este
mais restritivo quanto aos deveres dos filhos).
167
livro_antonio_m_espanha.p65 167 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
fazendo os filhos parte da pessoa do pai, só este era titular de
direitos e obrigações, adquirindo para si os ganhos patri-
moniais dos filhos sujeitos ao pátrio poder e sendo responsá-
vel pelas suas perdas. Com a consequência suplementar de
que não poderiam entre si contratar. Tudo isto estava, no
entanto, algo atenuado. Quanto à capacidade de adquirir,
desde o direito romano que se reconhecia aos filhos a capaci-
dade de terem património próprio (peculium) (14). E quanto
aos seus poderes de contratar com o próprio pai, de há muito
se superara a restritíssima norma do direito romano247 , ape-
nas se mantendo no domínio processual248 .
1.10 Marido e mulher: uma igualdade de geometria
variável
As relações entre marido e mulher249 estão, também,
desenhadas sobre a antropologia moderna do amor conju-
gal, a que acima já nos referimos. Um amor igual e desigual
ao mesmo tempo.
Igual, porque se baseia numa promessa comum e recí-
proca de ajuda, de fidelidade e de vida em comum, promes-
sa cujo cumprimento, por seu lado, seria decisivamente faci-
litado pela igualdade da condição e riqueza dos cônjuges
(Fragoso, 1641, III, 1. 1, d. 1, §3, 36/40).
Desigual, porque, em virtude da diferente natureza do
homem e da mulher, os sentimentos mútuos dos cônjuges –
247 Cf. Pascoal de Melo, 1789, IV,I,8; Lobão, 1818, § 245.
248 Fragoso, 1641, III, I. 2, d. 3, § 2, n. 43.
249 Cf., em geral, Natividade, 1653, op. IX.
168
livro_antonio_m_espanha.p65 168 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
e, logo, os deveres correspondentes – não são iguais nem re-
cíprocos. Uma boa ilustração disto é a do adultério. Embora
seja, em qualquer caso, igualmente censurável do ponto de
vista da moral abstracta (pois ambos os adúlteros violam a
mútua obrigação de fidelidade), a moral positiva julga-o di-
ferentemente, já que o adultério da mulher não apenas faz
cair o opróbio sobre os filhos e obscurece a paternidade dos
filhos (turbatio sanguinis), como segundo o célebre jurista Bal-
do (século XIV) – causa aos maridos uma dor maior do que a
da morte dos filhos (15).
Mas à desigualdade do amor, juntam-se as desigual-
dades naturais dos sexos, que fazem com que esta comu-
nhão dos esposos fosse fortemente hierarquizada. Na ver-
dade, eles constituíam uma só carne; mas, nesta reintegra-
ção num corpo novamente único, a mulher parece que ten-
dia a retomar a posição de costela do corpo de Adão.
A subalternização da esposa tinha uma lógica totalitá-
ria no ambiente doméstico.
Começava logo nos aspectos mais íntimos das relações
entre os cônjuges. Assim, na consumação carnal do casamen-
to, já que se entendia que a perfeição do acto sexual se dava
com o orgasmo do homem, sendo dispensável o da mulher250 .
O que decorria do facto de se considerar como meramente
250 “O matrimónio só se consuma pela cópula, pela qual os cônjuges se tomam
numa só carne, o que não se verifica sem a emissão de sémen pelo homem [...].
Questiona-se sobre se o sémen da mulher é um requisito necessário para a
consumação. Ambas as opiniões são defensáveis, mas a mais provável é que
não o seja”, S. José, 1791, tr. 34, II, n. 121.
169
livro_antonio_m_espanha.p65 169 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
passivo e recipiente o papel da mulher na gestação, que se
limitava a contribuir com a matéria bruta a que o homem
daria a forma. Esta hierarquização devia tornar-se visível na
própria gestualidade do acto sexual. De facto, seria contra
natura o coito “praticado de pé, sentado ou em posição in-
vertida, estando o homem por baixo e a mulher por cima”251 ;
numa palavra, a própria expressão dos corpos devia eviden-
ciar a posição dominante do homem.
Mas a subordinação da esposa manifestava-se, depois,
no plano dos actos externos, de natureza pessoal e patrimonial.
Estava sujeita ao poder do seu marido252 , o que se traduzia
numa faculdade generalizada de a dirigir253 , de a defender e
sustentar254 e de a corrigir moderadamente(16). Deste poder
de correcção estava privada a mulher. Ao explicar porque é
que a mulher não podia, ao contrário do marido, abandonar o
marido adúltero (a não ser no caso de “correr o risco de per-
versão ou de incorrer em pecado”), um moralista de seiscen-
tos explica que “à mulher não compete a correcção do ho-
mem, como a este compete a correcção daquela, pois o marido
é a cabeça da mulher e não o contrário”255 .
251 S. José, 1791, tr. 34, II, n.158.
252 Já em relação aos poderes sobre os filhos, a inferioridade da mulher decorre,
como reconhecem os juristas na segunda metade do século XVIII, de respeitos
que têm mais a ver com os mutáveis costumes das nações do que com a
natureza do casamento (V. Pascoal de Melo, 1789, II,4,6).
253 Administrando os seus bens com bastante liberdade (Ord. fil., IV, 48; 60; 64;
66 (cf. Pascoal de Melo, 1789, IV,7,4 (e respectivas notas de Lobão); represen-
tando-a em juízo (Ord.fil., III,47).
254 Cf. Ord. fil., IV, 103, I; à mulher e às suas criadas, mesmo para além das
forças do dote (Fragoso, 1641, III, I. 3, d. 4, §1, n. 9,172).
255 S . José, 1791, tr. 34, II, n. 151.
170
livro_antonio_m_espanha.p65 170 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
1.11 A perpetuação da unidade: primogenitura e
indivisibilidade sucessória do património familiar
A unidade era, portanto, um princípio constitucional
da família de Antigo Regime. Este apelo da unidade fazia-se
sentir não apenas enquanto sujeitava todos os membros da
família à direcção única do pater, mas também enquanto fa-
vorecia modelos de assegurar a unidade da família, mes-
mo para além da morte deste.
Referimo-nos, antes de mais, ao instituto da primo-
genitura, cuja difusão se explica, porventura, por ingredi-
entes da tradição judaica (testemunhados pelas Escrituras;
cf. Exodus, 13, 22) e feudais. A raiz do direito dos primogé-
nitos a encabeçarem a comunidade familiar estaria no fac-
to de, por presunção que decorria da natureza, o amor dos
pais ser maior em relação ao filho mais velho, bem como no
carácter ungido e quase sacerdotal do filho mais velho no
Antigo Testamento. O carácter antropológico e quase divi-
no deste fundamento dos direitos de primogenitura fazia
com que estes fossem inderrogáveis (salva justa causa) quer
pelo pai, quer pelo rei.
Na Época Moderna, porém, a antiga dignidade natu-
ral ou divina dos direitos dos primogénitos já era negada
por muitos, que os fundavam antes num particular uso de
certas nações quanto às regras de sucessão de determina-
dos bens, de acordo com a sua natureza (caso dos bens feu-
dais) ou com a vontade de um seu dono (caso dos morga-
171
livro_antonio_m_espanha.p65 171 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
dos)256 . E, de facto, na Europa ocidental, o seu âmbito redu-
zia-se, praticamente, ao direito feudal (caso dos “feudos
indivisíveis”) e, na área hispânica (ou de influência hispâni-
ca, como em certas zonas de Itália), aos morgados (e, até cer-
to ponto, aos bens enfitêuticos)257 .
Nestes casos, porém, a indivisibilidade do património
familiar (e a unidade familiar a que isto força, com o realce
dos direitos e deveres recíprocos dos familiares que vivem na
sombra do administrador do vínculo) já tem menos a ver com
a unidade natural da familia do que com as vantagens políti-
cas (do ponto de vista familiar, mas também do ponto de
vista da coroa) da indivisão dos bens das casas e da sua con-
servação numa certa linha sucessória. Do ponto de vista das
famílias, porque a indivisibilidade do património vinculado
evita não apenas o olvido do nome258 e gesta familiares, mas
também a dispersão dos próprios membros da família, já que
estes ficam economicamente dependentes do administrador
do morgado. Do ponto de vista da coroa, porque, justamente
em virtude deste último facto, obtém o encabeçamento” do
auxilium das famílias (maxime, das famílias nobres) num nú-
mero relativamente pequeno de intermediários (cf. Pegas,
256 Embora tal uso atribuísse ao primogénito uma certa “preeminência e dignida-
de” (Pegas, 1685, cap. 1, n. 3 ss.; Fragoso, 1641, p. 3, 1. 9, d. 20, § 1, n. 8, 576).
257 Sobre o princípio da primogenitura na história do direito europeu, Gilissen,
1988, 681 s.; para Portugal, Ibid., 694 ss.
258 Daí que, em geral, se excluis sem as mulheres da sucessão dos morgados,
dada a sua incapacidade para transmitir o nome: “a família aumenta pelos
varões em dignidade e honra e destrói -se e extingue-se pela mulheres; e por
isso se diz que as mulheres são o fim da família” (Miguel de Reinoso, Obser-
vationes [...], ob. 14, nºs 9/11).
172
livro_antonio_m_espanha.p65 172 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
1685, cap. 2, n. 5; Ord. fil., IV, 100,5; Lobão, Morgados,II, §
4)(17). O carácter “civil” e não “natural” dos morgados é
realçado ainda mais na literatura pós-iluminista(18), que
propende fortemente a considerá-los “antinaturais”, jus-
tamente por ofenderem a igualdade de direitos entre todos
os filhos259 que, ele também, decorria do princípio natural da
unidade da família, embora entendido de outro modo.
Do carácter civil e político (i.e., “artificial”) dos morga-
dos seguia-se que a sua criação dependia apenas do pruden-
te arbítrio do instituidor (cf. Fragoso, 1641, p. 3, 1. 9, d. 18, §
1, n. 11), estando, portanto, aberta a nobres e plebeus, com a
única limitação de que a instituição devia ter a opulência
adequada aos fins por ela visados.
1.12 Entre a unidade da família e a igualdade dos filhos
Com a contínua aristocratização do pensamento social
durante os séculos XVII e XVIII, que tendia a operar uma
concentração da nobreza no grupo dos “grandes” com o pro-
gressivo realce dos direitos de todos os filhos à herança(19) e
com o advento das concepções individualistas quanto à li-
berdade de disposição dos bens e à vantagem (económica e
fiscal) da sua circulação, reforça-se a tendência para restrin-
gir, em nome da natureza da família, a liberdade de instituir
morgados àqueles casos em que o interesse público justificas-
se os prejuízos decorrentes da vinculação.
259 Gaetano Filangieri, Scienza della legislazione, 1780, 1,18,10; cf., para a discus-
são, Lobão, II, §§ 1-18.
173
livro_antonio_m_espanha.p65 173 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Permitir ou não a vinculação passa a depender do modo
como se entenda o equilíbrio justo entre a “igualdade natu-
ral dos filhos”, a “política de reputação das famílias” e a “po-
lítica da república”. A primeira hostil aos morgados, a se-
gunda buscando-os como meio de adquirir ou manter o lus-
tre social; a terceira, procurando combinar as vantagens fis-
cais e económicas da circulação dos bens com as da existên-
cia de uma nobreza poderosa em volta do trono.
Já no século XVI, Luís de Molina exigia que a autori-
zação régia para instituir morgados em prejuízo dos restan-
tes filhos apenas fosse concedida no caso de o institui dor ser
nobre ou de qualidade e riqueza (Molina, 1573, L. 1, cap. 14,
n. 8). Pois as famílias de humilde ou obscura origem, nada
tinham a perpetuar, antes procurando nos morgados um meio
de, confundindo a natureza, se insinuarem entre os nobres
(cf. Lobão, 1814, I, § 12 e lit. cit.). Esta “política das famílias”
devia ser corrente, pois Lobão, justificando as medidas res-
tritivas tomadas no tempo de Pombal, fala de “huma geral
mania de instituir vinculos em predios de ridiculos rendimen-
tos” (ib., § 14), apesar das limitações que alguma doutrina
(não dominante no foro) tendia, como vimos, a introduzir.
É apenas com as leis de 3.8. de 9.9.1770 que a “política
da república” impõe às “políticas das famílias” um equili-
brado respeito pelos “direitos naturais de todos os filhos à
herança”, concretizando as condições (quanto à qualidade
das pessoas e quanto à importância dos bens vinculados) ju-
ridicamente necessárias, para que os morgados anteriores
subsistam ou outros novos se possam instituir(20).
174
livro_antonio_m_espanha.p65 174 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
1.13 Outras fidelidades domésticas
“Família” era, no entanto, uma palavra de contornos
muito vastos, nela se incluindo agnados e cognados, mas ainda
criados, escravos e, até, os bens. “La gente que vive en una
casa debaxo del mando del senor della”, eis como define fa-
mília o Dicionario de lengua castellana, da Real Academia de
História (1732), invocando as Part., 7, tit. 33, 1. 6: “Por esta
pai abra familia se entiende el señor de ella, e su muger, e
todos los que viven so el, sobre quien ha mandamiento, as si
como los fijos e los servientes e otros criados, ca familia es
dicha aquella en que viven mas de dos homes al mandamiento
del señor”. Mas acrescenta, em entradas seguintes, outras
acepções: “número dos criados de alguém, ainda que não
vivam dentro da casa”; “a descendência, ascendência, ou
parentela de alguma pessoa”; “o corpo de alguma religião
ou comunidade”; “o agregado de todos os criados ou domés-
ticos do rei”; fazendo ainda equiparar “familiar” a amigo260 .
Em relação a toda esta universalidade valiam os princí-
pios inicialmente enunciados, nomeadamente o da unidade
sob a hegemonia do pater, ao qual incumbiam direitos-deve-
res sobre os membros e as coisas da família.
Era assim quanto aos criados, ligados ao dominus por
uma relação que excedia em muito a de um simples
mercenariato, aparecendo envolvida no mundo das fidelida-
des domésticas. Não é que o direito português conhecesse
260 Sobre o conceito de família v., ainda, Monteiro, 1993, 279.
175
livro_antonio_m_espanha.p65 175 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
ainda a adscrição (cf. Ord. fil., IV, 28). Mas as relações entre
o senhor e os servos criados desenvolviam-se no ambiente da
família patriarcal (da “casa”) que criava, de parte a parte,
laços muito variados.
Desde logo, “criados” (famuli, “família”) eram, tradi-
cionalmente, aqueles que viviam com o senhor “a bem fa-
zer”, ou seja, pelo comer e dormir. São quase apenas estes
que as Ord. Man. (de 1521, IV, 19) consideram, não lhes re-
conhecendo (como, de resto, acontece com o direito comum)
direito a reclamarem uma soldada. Apesar da inversão
verificada com as Ord. fil. – que passam a reconhecer um
direito geral a um salário e reflectem o advento de um mun-
do (urbano?) muito mais expandido de relações mercenárias
de trabalho (cf. IV, 32 ss.) –, a doutrina continua a resistir a
integrar as relações domésticas de trabalho no “mercado do
trabalho” e distingue os criados domésticos, segundo o mo-
delo tradicional261 – cujo direito ao salário entende estar de-
pendente de uma longa série de avaliações arbitrárias (cf. o
comentário de Silva 1731 a Ord. fil., IV, 30) –dos trabalhado-
res mercenários externos. Os laços de vinculação pessoal –
que se traduziam, nomeadamente, num muito débil direito
ao salário (ou, pura e simplesmente, na sua ausência) e na
necessidade de licença do senhor para abandonar a casa –
261 “Domestici sunt illi, qui cum aliquo continue vivunt, data aliqua inferioritate,
ad unum panem, & ad unum vinum” (domésticos são aqueles que vivem
com alguém, implicando alguma inferioridade, por um pão e um copo de
vinho, Pegas, 1789, III, ad I,24, gl. 20, n. 2); cf. também Reinoso, 1625, ob. 32,
n. 4 e Ord. fil., II, 11.
176
livro_antonio_m_espanha.p65 176 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
existiam também no caso dos criados dos cortesãos e nos
“acostados”, ou seja, daqueles que tivessem recebido do se-
nhor algum benefício(21). Apesar de Pascoal de Melo Freire
(um individualista) considerar estas leis “feudalizantes” e
caídas em desuso (1789, II,1,16, in fine), Lobão (um tradicio-
nalista) censura-o asperamente por isso, continuando a pro-
por um modelo patriarcal das relações entre senhores e cria-
dos262 . A contrapartida deste mesmo sentimento de uma ín-
tima comunicação entre senhor e criado era constituída pe-
las isenções de que gozavam os criados de eclesiásticos e no-
bres (Ord. fil., II,25 e 58) e o facto comum de se pedirem ao
rei mercês para os seus criados263 .
1.14 A força expansiva do modelo doméstico
Muito do imaginário e dos esquemas de pensamento
a que acabamos de nos referir transvazavam largamente o
domínio das relações domésticas, aplicando-se, nomeada-
mente, ao âmbito da república.
Como se diz na época, “sendo a casa a primeira comu-
nidade, as leis mais necessárias são as do governo da casa”
(Natividade, 1653, op. I, cap. 1, p. 2, n. 10); e sendo, além
disso, a família o fundamento da república, o regime (ou go-
verno) da casa é também o fundamento do regime da cida-
de. Este tópico dos contactos entre “casa” e “república” – e,
262 Lobão invoca, significativamente, o direito dos Estados alemães que, como se
sabe, conservaram até muito tarde o regime de servidão e de adscrição.
263 Cf., em geral, sobre o tema, Natividade, 1653, op. XII.
177
livro_antonio_m_espanha.p65 177 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
consequentemente, entre a “oeconomia”, ou disciplina das
coisas da farmília, e a “política”, ou disciplina das coisas
públicas)264 –, a que a literatura recente tem dado muito des-
taque265 , explica a legitimação patriarcal do governo da re-
pública, em vigor durante quase todo o Antigo Regime, bem
como o uso da metáfora do casamento e da filiação para des-
crever e dar conteúdo às relações entre o príncipe e a repú-
blica e entre o rei e os súbditos. E constitui também a chave
para a compreensão, num plano eminentemente político, de
uma grande parte da literatura que, aparentemente, se diri-
ge apenas ao governo doméstico.
Zona de expansão do modelo doméstico é também o
domínio das relações internas à comunidade eclesiástica.
Não só a Igreja é concebida como uma grande família, dirigida
por um pai espiritual (Cristo ou o seu vigário, o Papa [note-
se o radical da palavra]) e regida, antes de tudo, pelas regras
do amor familiar (fraterna disciplina, fraterna correctio), como
as particulares comunidades eclesiásticas obedeciam ao mo-
delo familiar. Às congregações religiosas chamavam-se “ca-
sas”; os seus chefes eram “abades” (palavra que significa
“pai”) ou “abadessas” (ou “madres”), a quem os religiosos
deviam obediência filial. Os religiosos eram, entre si, “fra-
des” (fratres, irmãos) ou sorores (sorares, irmãs; ou, também,
“irmãs”). Sobre eles impendiam incapacidades e deveres tí-
264 Que Aristóteles, sintomaticamente, considerara conjuntamente no seu trata-
do sobre a “economia”.
265 V., por todos, Frigo, 1985a, 1985b, 1991; Hespanha, 1990; Mozzarelli, 1988.
178
livro_antonio_m_espanha.p65 178 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
picos dos filhos família. A disciplina interna da comunida-
de era – sobretudo nas congregações femininas em que as
madres não dispunham de jurisdição, por serem mulheres
– concebida como uma disciplina doméstica, competindo
aos superiores os poderes de que os pais dispunham em
relação aos filhos.
Tudo isto é bastante para mostrar o papel central
que, na imaginação das relações políticas, é desempenha-
do pelo modelo da família. Modelo que, por outro lado,
obedece a uma impecável lógica estruturante, fundada
em cenários de compreensão do relacionamento humano
muito profundamente ancorados nas sociedades europeias
pré-contemporâneas.
1.15 Orientação bibliográfica
Este capítulo segue de perto o meu artigo “Carne de
uma só Carne”. Para uma compreensão dos fundamentos
histórico-antropológicos da família na época moderna” (em
Análise Social, 1993, número de homenagem ao Prof. Doutor
Adérito Sedas Nunes), onde se podem ver detalhes suple-
mentares. O enquadramento deste tema numa história oci-
dental da farmília pode ser feita com recurso à obra de James
Casey (Casey, 1991), uma das mais actualizadas, equilibra-
das e sensíveis ao contexto institucional. Quanto aos aspec-
tos mais especificamente jurídicos, aconselha-se a consulta
dos capítulos respectivos de Gilissen, 1988, bem como das
“notas do tradutor” (da minha autoria) que os seguem; aí se
179
livro_antonio_m_espanha.p65 179 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
podem encontrar, também, exemplos textuais; para maiores
desenvolvimentos, Coing, 1985.
Indicações de bibliografia secundária portuguesa recen-
te (geralmente sobre aspectos parcelares) podem encontrar-
se em Hespanha, 1992 (pp. 55 ss. e 68 s.).
As fontes são, sobretudo, a literatura teológica (comen-
tários ao sacramento do matrimónio)(22) e a literatura jurí-
dica (da qual destacamos, como síntese, o aqui tantas vezes
citado Baptista Fragoso). Mas a literatura “económica” (como
Andrade, 1630; Barros, 1540; Melo, 1651; e Natividade, 1653)
pode fornecer sugestões com uma tonalidade diferente.
Bibliografia citada
ANDRADE, Diogo Paiva de, Cazamento peifeito em que se contem
advertencias muyto importantes para viverem os cazados em quietação e
contentamento, [...], Lisboa, 1630.
ANTOINE, Gabriel S. J., Theologia moralis ad usum parochorum &
confessariorum, Romae, 1741.
BARROS, João de, Espelho de cazados, Porto, 1540.
* CASEY, James, História da Família (trad. port. de The history ofthe
Familily, 1989), Lisboa, Teorema, s./d. [1991].
CHAVES, Castelo Branco (org.), O Portugal de D. João V visto por Três
Forasteiros, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1989.
COING, Helmut, Europaisches Privatrecht. Band I. Alteres Gemeines Recht
(1500 bis 1800), München, C. H. Beck, 1985.
CORDEIRO, António, Resoluçoens theojuristicas [...]. V. De morgados, ou
capelas vinculadas, Lisboa Occidental, 1718.
FERNANDES, Maria de Lurdes C., “As artes da confissão. Em torno
dos manuais de confessores do séc. XVI em Portugal”, Humanística e
Teologia, 11(1990), pp. 47-80.
180
livro_antonio_m_espanha.p65 180 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
FRAGOSO, Baptista, Regimen reipublicae christianae, Lugduni,
1641-1652.
FRIGO, Daniela, Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile
nella tradizione dell’“oeconomica” tra Cinque e Seicento, Roma, 1985.
FRIGO, Daniela, “La dimensione amministrativa nella riflessione
politica (secoli XVI-XVIII) ”, C. Mozzarelli (ed.) in L’amministrazione
nell’Italia moderna, Milano-Giuffre, 1985,2 vols., I, 21-94.
* FRIGO, Daniela, “Disciplina rei familiariae: a economia como mode-
lo administrativo de Antigo Regime”, in Penélope, (6) 1991.
* GILISSEN, John, Introdução Histórica ao Direito, Lisboa,
Gulbenkian, 1989.
HESPANHA, António Manuel, “Justiça e administração entre o Anti-
go Regime e a revolução”, in Hispania. Entre derechos proprios y derechos
nacionales. Atti dell’incontro di studi, Firenze, 1990.
HESPANHA, António Manuel, Poderes e instituições no Antigo Regime.
Guia de estudo, Lisboa, Cosmos, 1992.
LARRAGA, Francisco O. P., Promptuario de la theologia moral, ed. cons.
(3.ª), Madrid, 1788, 2 tomos.
LOBÃO, Manuel de Almeida e Sousa de, Tratado prático de morgados,
Lisboa, Imprensa Nacional, 1814.
LOBÃO, Manuel de Almeida e Sousa de, Notas de uso práticas e críticas
[...] a Melo, Lisboa, 1818.
LOBÃO, Manuel de Almeida e Sousa de, Tratado das acções recíprocas I.
Dos pais para com os filhos. II. Dos filhos para com os pais [...], Lisboa, 1828.
MELO, Francisco Manuel de, Carta guia de casados, 1651.
MELO (Freire), José Pascoal, Institutiones iuris civilis lusitani,
Ulysipone, 1789.
MOLINA, Luís de, De hispanarum primogeniis [...], Compluti, 1573.
* MONTEIRO, Nuno G., “Os sistemas familiares”, in J. Mattoso (dir.),
História de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, voI. IV (<<O
Antigo Regime”, dir. A.M. Hespanha), pp. 279-282.
181
livro_antonio_m_espanha.p65 181 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
MOZZARELLI, Cesare, (ed.), “Famiglia” del principe e famiglia
aristocratica, Roma, Bulzoni, 1988, 2 vols.
NATIVIDADE, Fr. António da, Stromata oeconomica totius sapientiae [...]
sive de regimini domus, Olysipone, 1653.
PEGAS, Manuel Alvares, Commentaria ad Ordinationes [...], 14 vols.,
VIysipone, 1669-1703.
PEGAS, Manuel Alvares, Tractatus de exclusione, inclusione, successione
et erectione maioratus, Ulyssipone, 1685.
REINOSO, Miguel de, Observationes praticae [...], Olyssipone, 1625.
SILVA, Manuel Gonçalves da, Commentaria ad Ordinationes [...], 4 vols.,
Ulysipone, 1731-1740.
S. JOSÉ, Antonio de, Compendium sacramentorum in duos tommos
distributum universae theologiae moralis quaestiones, ed. cons.
Pampelonae, 1791.
Bibliografia sugerida – As notas assinaladas com *
Notas
(1) O bimester tinha como finalidade permitir a qualquer dos cônjuges uma últi-
ma reflexão sobre o ingresso no estado religioso. Mas, subsidiariamente, des-
tinava-se a aumentar, pela espera, o desejo de consumação (S. José, 1791, tr.
34, II, n. 110).
(2) As limitações ao dever de entrega eram poucas: doença sexual transmissível,
demência, embriaguez, pendência de divórcio, incapacidade da mulher para
dar à luz filhos vivos (mas não já perigo de parto difícil). Algumas destas
causas de inexigibilidade do débito cessavam sempre que a recusa causasse
perigo de desavença ou de incontinência (e, logo, pecado) do outro cônjuge (S.
José, 1791, tr. 34, II, n. 135 ss.). Fora destes casos, a exigência de relações
sexuais tinha que se conformar, como se verá, àquilo que era considerado como
um “uso honesto” do casamento (S. José, 1791, Ibid.; Larraga, 1788, tr. 9, § 8).
(3) Isto penalizava, naturalmente, a sexualidade da mulher, cuja satisfação po-
dia não coincidir com o momento da inseminação. Neste ponto, os moralis-
tas, condescendiam um pouco com o erotismo, permitindo à mulher que não
tivesse tido o orgasmo durante o coito excitar-se até o atingir ou consentindo
ao marido prolongar o coito depois do seu orgasmo até ao orgasmo da
mulher (S. José, 1791, tr. 34, n. 161; Larraga, 1788, tr. 9, 1, 269 ss.). Não se
tratava, em todo o caso, de uma obrigação para ele, pois a mulher apenas
tinha direito a um coito consumado [do ponto de vista da sua eficácia
182
livro_antonio_m_espanha.p65 182 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
generativa], mas não a um coito satisfatório; por outras palavras, tinha direi-
to a engravidar, mas não a gozar.
(4) Cf. Natividade 1653, op. IV, c. 3, n. 2/3, pg. 110. Existem algumas limitações
a este princípio, consubstanciadas em direitos dos filhos (v. g., “alimentos”,
dotes, bens integrados em pecúlios próprios), da mulher (v. g., “alimentos” ou
reparação de “injúrias”), dos criados (v. g. “soldadas”) e, até, dos escravos (v.
g., a vindicação da “liberdade” ou reparação de “injúrias”), oponíveis judicial-
mente ao pater.
(5) A questão da ordo amoris, em geral, era discutida na qu. 26 da IIa.IIae da
Summa theologica: é maior o que se tem pelos mais próximos do que o que se
tem pelos melhores (princípio que não deixa de ser subversivo em relação a um
princípio constituinte da sociedade política), art. 7; o pai prefere a mãe, na
ordem do amor, art. 10; os filhos preferem os pais, art. 9; a mulher prefere os
pais, art. 11; o beneficiado o beneficiante, art. 12).
(6) Cf. S. Thomas, Sumo theol., IIa.IIae, qu. 26; Fragoso, Regimen..., p. 3, 1. 1, d. 1,
§ 1, ns. 8/9). As fontes escriturais desta eminência do amor entre os cônjuges
eram, sobretudo, Gen., 11,24 (“pela esposa, deixe o marido o seu pai e a sua
mãe”), Mat., 19,6 (“e assim já não são dois, mas uma só carne”); Paul., 28,33
(“os maridos devem amar as suas esposas como a si mesmos”).
(7) No caso dos filhos legítimos e naturais, os alimentos eram devidos de acor-
do com a qualidade e possibilidades do pai; nos espúrios apenas segundo
a sua indigência (utfame non pereant), Fragoso, 1641, m, p. 153 (o A. afasta-
se desta opinião, que seria a recebida, sendo favorável à plena equipara-
ção); Lobão, 1828,7.
(8) Cf. Fragoso, 1641, III, I. 2, d. 3, ? 3, ns. 1 ss. [sobre o termo do poder paternal]
e 82 a 114 [sobre este último ponto]; Pascoal de Melo, 1789,II,5,21 ss. (contra,
Lobão, 1818, ad v.27, rubr.)
(9) “Confesso que nunca vi provada claramente, nem julgada no foro tal socieda-
de universal tacita com effeitos de expressa, nem tão pouco jámais vi escriptura
de sociedade universal expressa”, escreve Lobão (Tratad ..., § 789); mas não
deixa de expor uma série de regras sobre as partilhas de sociedades de amanho
comum das terras paternas, constituídas, nomeadamente em meios rústicos,
entre irmãos, com suas mulheres e filhos (cf. § 777 e ss.; no caso de os irmãos
serem “nobres”, § 785).
(10) V., sobre o seu conteúdo (doutrina sagrada; pelo menos, o credo, o decálogo,
o padre-nosso e os principais mistérios da fé (Fragoso, 1641, p. III, 1. 1, d. 1, §
6, p. 21 s.). Também, Natividade 1653, op. X).
(11) Cf. Ord.fil., IV,97,7; v. também, sobre o alcance desta obrigação paterna,
Fragoso, 1641, p. III, 1. 1, d. 1, § 6, ns. 96 ss. (em Portugal, seria costume dever
o pai custear os estudos e livros universitários do filho, mesmo que não concor-
de com eles. Tudo isto limitado, naturalmente, pela condição familiar e pelas
posses do pai. Lobão (1828, § 47 ss.) entende que os pais nobres estão obriga-
dos a pagar os estudos até ao grau de bacharelou doutor (§ 48).
(12) Decorre das mesmas listas de “bons” e “maus” teólogos (cf. XI e 38) que
dos dois lados estavam jesuítas; mas o sentido geral da teologia moral da
Segunda Escolástica, dominada pelos jesuítas, era, de facto, liberalizador
quanto a este ponto.
183
livro_antonio_m_espanha.p65 183 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
(13) Para mais detalhes, v. o meu artigo “Carne de uma só Carne”. Para uma
compreensão dos fundamentos histórico-antropológicos da família na época
moderna” (a publicar em Análise social (1993), núm. de homenagem ao Prof.
Doutor Adérito Sedas Nunes).
(14) Nos seus vários tipos de castrense, quasi castrense, adventício e profecticio, enume-
rados por ordem decrescente de poderes de disposição; cf. Fragoso, 1641, III, 1.
1, d. 2, §8, ns. 229 ss.; Lobão, 1828, cap. 13. Sobre a capacidade para se
obrigarem, Fragoso, 1641, III, 1. 1, d. 2, §9.
(15) Fragoso, 1641, III, 1. 1, d. 1, § 3, n. 42. Daí que os juristas entendam que o
adultério mútuo e recíproco não se pode compensar, pois “a impudícia na
mulher é muito mais detestável do que no homem”, Ibid., III, 1. 3, d. 4, § 2, n. 41.
É também esta desigualdade, do amor, do ciúme e da dor que faz com que o
marido não seja punido (no secular, pois, no espiritual, sempre incorre em peca-
do mortal) se matar a mulher colhida em flagrante de adultério (desde que mate
também o seu parceiro) (Ord.fil., v. 38, pr.; comentário, Fragoso, Ibid., § 3, 63).
(16) Cf. Ord. fil.; v. 36,1; 95, 4. A propósito da moderação dos castigos, Pascoal de
Meio comenta que, em portugal, mais nas classes populares do que nas eleva-
das, o castigo frequentemente degenera em sevícias, por causa das quais quo-
tidianamente se afadigam osjuízes (1789, H, 7, 2).
(17) Este modelo de encabeçamento era conhecido noutros domínios, nomea-
damente, no da recepção de rendas e tributos, como forma de reduzir o
peso do governo.
(18) Cf. Lobão, 1814, §6 ss., insistindo na origem “hispânica” da instituição (em
Portugal, L. 15.9.1557; Ord. fi/., 100,4; em Castela, Leis de Toro [1535] e Nova
rec., v.7.). Para Castela, V. o livro fundamental de Bartolomé Clavero, Mayorazgo.
Propiedad feudal en Castilla. 1369-1836, ed. alt., Madrid, Siglo XXI, 1989.
(19) Já no direito seiscentista português, os direitos dos filhos eram acautelados:
a livre instituição só se admitia pelas forças da quota disponível (“terça”); no
caso de a instituição se fazer em prejuízo da quota legitimária dos filhos,
carecia-se de um acto de graça do rei (por intermédio do seu tribunal de graça,
o Desembargo do Paço), por se tratar de uma derrogação dos direitos dos
filhos (Pegas, 1685, cap. 3, ns. I e 2).
(20) V. comentário detalhado em Pascoal de Melo, 1789, III, t. 9 e Lobão, 1814,
II, ? 13 ss.; III (max., sobre as categorias admitidas de nobreza, §§ 6 ss.; sobre
as qualidades dos comerciantes, agricultores [não os da pequena agricultura
ao norte do Tejo, mas os da grande agricultura do Alentejo] e letrados que
podiam instituir morgados, V. §§ 13 e 16). Esta lei alargava ainda a necessi-
dade de licença régia a toda e qualquer instituição de morgado (§ 13) e
reduzia a uma única (a da Ord. fi/., IV, 100) a fórmula de sucessão nos
morgados (§ 10). Esta última disposição implicava, v. g., a revogação da
legislação anterior que impedia a união de morgados, a expulsão ou prejuízo
das mulheres da sucessão nos vínculos, a exclusão de cristãos-novos. Note-
se, em todo o caso, como a interpretação que desta última regra faz Lobão
(ao admitir substituições fideicomissárias complementares à vocação
sucessória estabelecida na lei, nos termos da Ord. fil., IV, 87; cf. 1814, cap. 9,
§15 ss.), lhe tira muito do seu alcance.
(21) Cf. Ord. fi/., IV, 30: casamento, cavalo, armas, dinheiro ou outro qualquer
galardão). Os criados dos estudantes, estavam obrigados a servir apenas pela
roupa e calçado; os músicos e cantores, apenas pela comida (Fragoso, 1641, p.
184
livro_antonio_m_espanha.p65 184 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
3, 1. 10, d. 21, § 5); o mesmo valia para as criadas das monjas, pois se entendia
que o eram com o intuito de ingressarem no convento (Silva, 1731, IV, ad IV,29,
pr., n. 28), para os aprendizes (ib., 30) e para os menores de sete anos, que
serviam “pela criação” Ord.fi/., IV,3I,8).
(22) Dos portugueses, para além dos respectivos capítulos dos compêndios ge-
rais ou prontuários de teologia moral (dos quais destaco, Manuel Lourenço
Soares [1590-.. ..], Principios, e deffiniçães de toda a teologia moral muito proveitoso
e necessario [...], Lisboa, 1642; Angelo de Santa Maria [1678-1733], Breviarii
moralis Carmelitani partes, Ulysipone, 1734-1738,7 tomos; Rebelo Baptista, Summa
de theologia moral, Ulysipone, 1728; Bento Pereira, S.J., Elucidarium theologiae
moralis, Ulysipone, 1671-1676; João Pacheco, Promptuario de theologia moral,
Lisboa, 1739; Manuel da Silva de Morais, Promptuario de theologia moral, Lis-
boa, 1732; Tomé Botelho Chacón, Compendio de theologia moral, Lisboa 1684), v.
Manuel Lourenço Soares, Compendium de sacramento matrimonii tractatus Thomae
Sanches Jesuitae alphabeticum breviter dispositum, Ulysipone, 1621 (trata-se de
uma adaptação de um tratado célebre, aparentemente com grande influência
em Portugal): Barbosa Machado dá notícia de outros tratados manuscritos
sobre o matrimónio (v.g., de Amaro de Aregas, Manuel Jorge Henriques).
185
livro_antonio_m_espanha.p65 185 11/11/2005, 03:02
livro_antonio_m_espanha.p65 186 11/11/2005, 03:02
2. A IGREJA
Objectivos da aprendizagem
Quando terminar esta unidade, o aluno deve ser capaz de:
• Definir os contornos da Igreja como grupo e a evo-
lução verificada a este propósito;
• Definir o estado eclesiástico e o seu estatuto jurídi-
co-político;
• Avaliar o impacto normativo da moral cristã e os
mecanismos da sua inculcação;
• Explicar o âmbito da jurisdição eclesiástica;
• Definir ofício eclesiástico e enunciar as suas com-
petências;
• Enunciar os principais tributos eclesiásticos.
2.1 A sociedade eclesial
A importância da Igreja como pólo político autónomo
é enorme na Época Moderna.
De facto, de todos os poderes que então coexistiam, a
Igreja é o único que se afirma com bastante eficácia desde
os âmbitos mais humildes, quotidianos e imediatos, como
as famílias e as comunidades, até ao âmbito internacional,
livro_antonio_m_espanha.p65 187 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
onde convive, como poder supremo, com o Império, nos es-
paços políticos em que este é reconhecido como poder tem-
poral eminente 266 . De um extremo ao outro, a influência
normativa ou disciplinar da Igreja exerce-se continuamente.
No plano da acção individual, pela via da cura das almas, a
cargo dos párocos, pregadores e confessores. No plano da pe-
quena comunidade, pela via da organização paroquial. No
plano corporativo, por meio das confrarias específicas de cada
profissão. Nos âmbitos territoriais intermédios, por meio da
disciplina episcopal. Nos reinos, por mecanismos tão diversifi-
cados como a relevância temporal do direito canónico ou as
formas tão estreitas de cooperação entre os “dois gládios”.
Esta contínua presença da Igreja na organização polí-
tica e institucional do mundo terreno mostra a importância
que os momentos jurisdicionais vinham adquirindo na teoria
e na prática eclesial.
Até ao século XIII, muito permanecia de uma concep-
ção puramente espiritual da Igreja, que a concebia como a
congregação daqueles que estivessem em união com Cris-
to, na graça de Deus (ecclesia triumphans), ou que por isso
lutassem (ecclesia militans)267 . Mas esta união com Cristo, para
além de ser potencialmente universal (“católica”)268 , depen-
dia apenas de uma disposição interior, sendo, por isso, ex-
266 O que, como se sabe, não existia em Portugal.
267 I. e., que estivessem a caminho – um caminho cheio de perigos e de quedas –
da salvação (homines viatores).
268 Dela estavam excluídos apenas os predestinados à condenação (cf. S. Tomás
Summa theologica, III, q. 8, a. 3, “resp.”, infine).
188
livro_antonio_m_espanha.p65 188 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
ternamente invisível. Os filhos da Igreja eram, então, inu-
meráveis e externamente indistinguíveis. A enumeração que
S. Tomás faz deles dá bem conta disso269 . Na verdade, Cristo
era a cabeça de todos os homens (e de todos os anjos), pelo
que “o corpo da Igreja é constituído pelos homens que exis-
tiram desde o princípio do mundo até ao seu fim” (ibid.,
“resp”.): tanto pelos que estão de facto (in actu) em estado de
graça, como pelos que apenas podem vir a estar (in potentia,
mesmo que, de facto, nunca o venham a estar!). Mesmo os
infiéis são potencialmente membros da Igreja, pois podem
estar predestinados por Cristo para a salvação (ibid., ad prim.).
Mas, além dos homens, faziam ainda parte da Igreja os anjos
e os bem-aventurados (ibid., a. 4). Já se vê que, com esta ex-
tensão – e, sobretudo, com esta indifinibilidade –, a Igreja
não podia obter nenhuma tradução institucional.
Do ponto de vista institucional, o que existiam eram as
dignidades eclesiásticas terrenas instituídas por Cristo, no-
meadamente o Papa, a quem competia dirigir uma parte da
Igreja, a Igreja militante, constituída pelos homens que, nes-
te mundo, caminhavam para Cristo. Neste sentido, para fins
institucionais e disciplinares, mais do que a Igreja, interes-
savam os ofícios eclesiais instituídos (o papado, o episcopa-
do)270 . A Igreja tende a ser definida como o conjunto dos
269 Cf. Summa theologica, III, q. 8, a. 3.
270 E, por isso, nos teólogos anteriores ao século XIV, a atenção prestada à Igreja,
como corpo institucional, é muito pequena; basta compulsar um índice temático
da Summa theologica, de S. Tomás de Aquino, em que as entradas relativas à
Igreja são relativamente muito poucas (mesmo se considerarmos que a obra
ficou incompleta). Também os tratados teológicos De Ecclesia apenas começam
189
livro_antonio_m_espanha.p65 189 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
fiéis que estão unidos misticamente a Cristo, por via de
uma sua união formal ao seu vigário na Terra, o Papa. Com
isto, com a exigência desta comunhão visível com a Igreja
visível, a congregação dos crentes adquire uma dimensão
externa: os membros da Igreja podem ser identificados, con-
tados, distinguidos dos que o não são; são formalmente ad-
mitidos (nomeadamente pelo baptismo, como janua Ecclesiae,
“porta da Igreja”) e podem ser formalmente expulsos (pela
excommunicatio, excomunhão, privação da comunicação)(1).
E é isto que permite que à Igreja sejam aplicados os qua-
dros do pensamento político-institucional estabelecidos
para as outras comunidades (ou corpos) de homens.
Esta jurisdicionalização da Igreja estava em marcha
desde a Idade Média. Mas, a partir da Reforma, a teologia
polémica dos católicos contra a “religião da interioridade”,
contra o carácter fundamentalmente pessoal e interior da fé
e da salvação, proposta pelos luteranos, tinha incentivado a
valorização das dimensões visíveis e institucionais da Igreja,
nomeadamente da ligação institucional e jurisdicional ao
Papa como único e indispensável sinal visível da comunhão
com Cristo e, logo, da pertença à Igreja.
Em alguns teólogos mais exigentes e mais conhecedo-
res da antiga tradição teológica sobre a igreja, a complexi-
dade originária do conceito de Igreja ainda aflora. Para
Francisco Suarez (que ainda bebe, de muito perto, em S.
a surgir nos inícios do século XV. Cf., sobre a eclesiologia em S. Tomás e na
época seguinte, Pesch, 1992, 449 ss.
190
livro_antonio_m_espanha.p65 190 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Tomás), a Igreja é “o corpo político e moral composto pelos
homens que professam a verdadeira fé de Cristo” (corpus
quoddam politicum, seu morale ex hominibus veram fidem
Christi profitentibus compositum) 271 . Isto ainda se acentua
quando, em seguida, Suarez exclui do seu campo de refle-
xão a Igreja triunfante e declara ocupar-se apenas da Igreja
dos homens, no seu trânsito terrestre actual (Igreja “mili-
tante”) (ibid.). Todavia, ainda entende a Igreja como exce-
dendo aquela que seria composta apenas pelos homens que
se encontram em união (visível) com o Vigário de Cristo (i.
e., os “católicos”, no sentido comum da palavra), continu-
ando a defini-la em função de uma união espiritual com
Cristo (“nimirum omnes, qui fidem habent, ecclesia membra
essent; vero qui illa carent extra ecclesiam constitui”, ibid.,
n. 6). Por isso, Suarez condena concepções mais exclusiva-
mente jurisdicionalistas que então já se faziam ouvir entre
os teólogos católicos que hipervalorizavam, na sequência
de Trento, os aspectos externos e visíveis da pertença à Igreja,
como o reconhecimento e obediência ao Papa, o baptismo
formal e a prática externa dos sacramentos e dos ritos da fé.
Para ele, ainda fazem parte da Igreja os excomungados e os
cismáticos, os não baptizados que aspirem ao baptismo (ibid.,
n. 13 ss., n. 17 ss.)(2); mas não os que se acomodam à disci-
plina externa da Igreja, embora sem fé (ibid., n. 23). Mas já
271 Suarez, 1622, tr. I (“de fide”), disp. 9, n. 3.
191
livro_antonio_m_espanha.p65 191 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
o Compendium salmanticense de teologia moral272 , obra típi-
ca da teologia vulgar da contra-reforma, define a Igreja
militante como a “congregação dos fiéis baptizados, reuni-
dos para prestar culto a Deus, cuja cabeça invisível é Nosso
Senhor Jesus Cristo nos céus, e a visível o Sumo Pontífice na
terra” (ll, tract. 41, §2, n. 71). Nenhuma referência à fé como
vínculo à Igreja; em contrapartida, inclusão da referência
ao baptismo e à obediência ao Papa(3). Em obras ulteriores
de teologia vulgar, este encerramento jurisdicionalista da
Igreja acentua-se ainda, identificando-se rigorosamente a
Igreja militante (da triunfante já quase não se fala) com os
homens que reconhecem o Papa e a ele obedecem(4).
Neste sentido, já pouco separa a Igreja de um se-
nhorio, ou seja, de uma república humana que reconhece
o mesmo senhor e que está sujeita à sua jurisdição. O
único traço distintivo passa a ser, apenas, a natureza espe-
cial desta jurisdição que, ao contrário das jurisdições tem-
porais, se ocupa de coisas espirituais. Daí que, operando
neste plano diferente, ela possa dirigir-se a homens que já
estão sob outras jurisdições e pretender, assim, um domínio
universal (“católico”)(5).
Este progressivo encerramento da Igreja numa estru-
tura institucionalmente fechada facilitava a instauração de
272 António de San Jose, Compendium salmanticense [...] universae theologiae moralis,
ed. cons. (5.a), Pamplona, 1791. Trata-se de uma obra de vulgarização teológi-
ca, organizada em perguntas e respostas e constituindo uma súmula do famo-
so “Curso teológico” dos carmelitas de Salamanca (Collegii salamanticensis fartrum
discalceatorum [...] cursus theologicus D. Thomae complectens. Segoviae,1634-1637).
192
livro_antonio_m_espanha.p65 192 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
mecanismos disciplinares sobre os fiéis. Permitia à Igreja
institucional identificar os seus “súbditos”, reclamar o mo-
nopólio da administração da graça (por meio dos sacramen-
tos, “sinais de uma coisa sagrada, enquanto santifica os ho-
mens”), impor-lhes uma disciplina, puni-los e, finalmente
excluí-los. Esta “contabilização dos fiéis” (a que correspondia,
no fundo, uma contabilização da graça, que “aprisionava
Deus” nas estruturas de salvação institucionalmente defini-
das pela Igreja) traduzia-se, nomeadamente, no arrolamen-
to dos crentes, nomeadamente por ocasião da sua entrada
na Igreja (registos de baptismo) e, depois, por ocasião da re-
paração periódica do vínculo da fé, mediante a confissão dos
pecados, a contrição e a absolvição (róis de confessados). Com
estes dois instrumentos, a Igreja controlava a entrada na
Igreja e a permanência nela. Com o controlo dos restantes
sacramentos, por sua vez, impedia-se que “Deus irrompesse
anárquica e desordenadamente na história”, ou seja, que os
homens cressem que acontecimentos ocorridos fora do con-
trolo da Igreja fossem instrumentos utilizados por Deus para
dar sinal de si e para salvar os homens.
Em todo o caso, esta circunscrição dos fiéis a um núme-
ro finito e contado reduzia também as pretensões ecuménicas
da Igreja no plano jurisdicional, pois obrigava a reconhecer
que quem estivesse fora do grémio dos fiéis escapava à juris-
dição da Igreja. Isto era claro com os pagãos, em relação aos
quais a Igreja apenas podia pretender a liberdade de anunci-
193
livro_antonio_m_espanha.p65 193 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
ar o Evangelho273 . Mas era mais discutido e mais difícil de
aceitar em relação aos hereges e cismáticos, em relação aos
quais a Igreja pretendia levar a cabo uma política de reunião
ou de submissão. Daí que alguns teólogos afirmem que, em-
bora fora da Igreja, os hereges estão sujeitos à sua tutela;
porque, tal como o membro cortado do corpo, continuam a
“pertencer” ao corpo de que foram membros274 .
2.2 Os clérigos
Como todas as sociedades humanas, a Igreja era uma so-
ciedade ordenada e hierarquizada. A grande distinção entre os
seus membros – uma distinção que se foi tomando cada vez
mais estruturante275 – era a distinção entre clérigos e leigos.
Um famoso jurista setecentista estabelece a distinção
nos seguintes termos:
Os leigos, que também se podem dizer populares, são aqueles a
quem é lícito possuir bens temporais, casar, advogar causas e
julgar. Os clérigos são aqueles que foram dedicados aos ofícios
divinos e aos quais convém preservar de todo o estrépito” (Pau-
lo Lancelloto, lnstitutiones iuris canonici, I,4).
Já o Diccionario de autoridades, da Real Academia Espa-
nhola (1726) enfatiza mais um elemento formal ou externo
da distinção, o de se ter recebido a prima tonsura: “todo o que
273 A questão torna-se candente com a expansão e a missionação. Cf., sobre o
tema, supra II.2.
274 Suarez, 1622, tr. I, disp. 9, n.23.
275 Até ao movimento de revalorização do estado laical com o concílio do Vaticano II.
194
livro_antonio_m_espanha.p65 194 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
foi admitido pelo bispo e deputado juridicamente para o ser-
viço da Igreja, mediante a primeira tonsura, ainda que não
tenha recebido outra ordem superior”. E acrescenta, valori-
zando agora a imposição do sacramento da ordem (ou orde-
nação) 276 que “ordinariamente, entende-se como o clérigo
secular que tem ordens maiores” (s.v. “Clerigo”). Outros
(como Amaral, 1740, s.v. “Clericus”) destacam a hierarquia
relativa dos dois estados: “Do clérigo se diz que é um solda-
do espiritual [...] e apesar de ser filho de um qualquer artífice
ou ínfimo plebeu, enquanto clérigo consagrado a Deus, é
maior e superior aos soldados deste mundo, mesmo que prín-
cipes e reis seculares” (n.º 1)”.
A definição do estado clerical não era apenas impor-
tante para marcar as hierarquias dentro da sociedade eclesial,
mas ainda para delimitar o âmbito dos privilégios (sobretudo
jurisdicionais) do clero. E, neste plano, ele consistia numa
dedicação, formal e definitiva, ao serviço divino.
A formalização desta dedicação efectuava-se ou pelo
sacramento da ordem, num dos seus diversos graus, ou pela
colação (i. e., a nomeação para) de um benefício (i. e., ofício
eclesiástico), ou pela profissão numa ordem religiosa, mas-
culina ou feminina (Amaral, 1740, ibid., n.º 2). Das dignida-
des e ofícios eclesiásticos diremos mais tarde. Duas palavras,
por agora, sobre a ordenação.
276 E, dentro deste, a imposição de ordens maiores ou sacras (v. infra).
195
livro_antonio_m_espanha.p65 195 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
A ordenação é o sacramento em virtude do qual um
leigo é ligado ao ministério da Igreja, recebendo o poder
de consagrar e administrar o sacramento da eucaristia
(Trento, sess. XXIII, capo III). A ordenação (ou ordem) tem
sete graus: três maiores ou sacros (presbítero, diácono e
subdiácono) e quatro menores ou não sacros (acólito,
exorcista, leitor e ostiário [porteiro])(6). E não era acessível
a todos. Dela estavam (e continuam a estar, na Igreja Cató-
lica) excluídas as mulheres. Mas, para além disso, existiam
múltiplos impedimentos “irregularidades”) à sua recepção.
Os canonistas identificavam três tipos de irregularidades:
morais (crime 277 -278 , infâmia(7), demência, embriaguez, es-
ponsais(8), mancebia pública, falta de vocação); físicas279
(sexo 280 , doença contagiosa [nomeadamente, lepra], falta
de vista(9), privação de algum membro, aleijão ou defeito
do corpo); sociais (ilegitimidade de nascimento, impureza
de sangue(10), profissão de cómico281 , falta de idade(11),
falta de ciência282 . As irregularidades relativas ao nascimen-
to eram averiguadas nas habilitações de genere; as restantes
eram-no nas habilitações de vita et moribus. Para além da
277 Bastava a suspeita forte, indiciada pelo facto de se ter sido pronunciado.
278 Era esta interdição de efundirem sangue que impedia os clérigos de con-
denarem em pena de sangue (Amaral, 1740, s.v. “Ordo”, n.º 26; Carneiro,
1896, 57).
279 Sobre elas, Amaral, 174O, S.v. “Ordo”, n.o 10 e ss.
280 “Ordinari potest homo masculus”, Amaral, 174O, s. v. “Ordo”, n.º 9.
281 Abolido pelo alv. 17.7.1771, art.ºX.
282 Saber ler e escrever, para a primeira tonsura; saber latim, para as ordens
menores; licenciatura em teologia ou cânones, para o episcopato (em princí-
pio). Cf. Conc. Trento, sess. XXII, cap. II, sess. XXIII, cap. IV e XI, de reformat.;
cf. Amaral, 1740, V. “Ordo”, n.º 10.
196
livro_antonio_m_espanha.p65 196 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
inexistência de impedimentos, a imposição do sacramento
da ordem dependia da titularidade, pelo ordenando, de
meios de subsistência. Assim, ninguém podia ser ordenado
sem “título”, ou seja, sem possuir previamente e de forma
pacífica um benefício, um património pessoal ou uma pen-
são de que se sustentasse (cf. Amaral, 1740, S. V. “Ordo”,
n.o 30). Apenas se excepcionavam desta regra os professos
em ordens religiosas, os jesuítas ou os missionários.
Enquanto titulares de uma especial dignidade, os cléri-
gos ordenados deviam manter regras estritas no viver, que
incluíam a abstenção de jogos seculares e da caça, a não
frequência de tabernas ou do teatro, um comportamento
moral irrepreensível, um porte discreto, a mansidão de cos-
tumes283 , o uso de vestes clericais, a prática da tonsura ou
“coroa aberta” e certas outras normas variáveis de região
para região quanto ao hábito corporal284 .
À profissão em ordens religiosas nos referiremos adiante.
Apesar da tentativa de formalizar a entrada no esta-
do clerical por uma qualquer solenidade (ordenação, pro-
fissão, colação de benefício) que permitisse traçar fronteiras
distintas numa classificação que tantas e tão importantes
consequências práticas trazia, permanecia uma certa zona
de mobilidade em que a pertinência ao estado clerical aca-
bava por se decidir quase unicamente em função de critéri-
283 Estava-lhes, por isso, vedado o porte de armas ou os desafios e duelos.
284 Na Península não podiam, por exemplo, usar barba nem bigode.
197
livro_antonio_m_espanha.p65 197 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
os externos, como o uso do hábito e da tonsura. De facto,
quanto aos clérigos menores, o uso de hábito e tonsura
condicionava a produção de um dos mais importantes efei-
tos do estado clerical – a isenção jurisdicional (Amaral, 1740,
s. v. “Ordo”, n.º 94)285 .
Como o uso de hábitos religiosos estava rigorosamente
interdito aos seculares, pode dizer-se, portanto, que mesmo
no uso do hábito a face visível do estado clerical consistia, ou
seja, que, ao contrário do que se diz na sabedoria popular, o
hábito fazia mesmo o monge.
2.3 Uma moral omni-compreensiva e omnipresente
Para desempenhar a sua missão (de condutora, de mãe
e de mestra), a Igreja dispunha, quer de normas disciplina-
res, quer de uma malha jurisdicional e político-institucional
visando a sua aplicação. Comecemos pelas primeiras.
O primeiro núcleo das normas com que a Igreja dis-
ciplinava a sociedade moderna estava contido no patrimó-
nio doutrinal ou dogmático da Igreja, integrando as obras
dos teólogos. Dentro destas, salientam-se as normas morais,
visando o aperfeiçoamento individual. Nos âmbitos do com-
portamento para consigo mesmo (monastica), do comporta-
mento no seio da família (oeconomia), ou ao comportamento
no seio da república (politica). A cada um destes grupos
285 Os clérigos menores casados (uma vez só e com mulher virgem) gozam de
privilégio clerical apenas no foro criminal (Trento, sess. XXIII de reformat. cap.
6), se andarem de hábito e tonsura e forem destinados pelo bispo ao serviço em
alguma igreja (Trento, sess. XXIII de reformat., cap. 6).
198
livro_antonio_m_espanha.p65 198 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
correspondía um capítulo da teologia moral, corpo literário
vastíssimo, que vai desde as grandes sínteses (como a segun-
da parte da Summa theologica, de S. Tomás de Aquino, (1225-
1274), até aos comentários monográficos ou aos “manuais
de confessores”286 , espécie de repertórios dos “casos de cons-
ciência” para uso dos confessores(12).
Nos séculos XVII e XVIII, a teologia moral atinge um
alcance e uma finura de análise casuística impressionantes.
Estamos – pelo menos no Sul da Europa perante uma socieda-
de “integrista”, em que se visa – apesar de uma certa laiciza-
ção do pensamento teológico operado com a escolástica tomista
– uma direcção integral da vida inspirada na moral cristã e em
que, portanto, os actos mais mínimos e mais íntimos estão
detalhadamente regulados, quase não havendo lugar para
acções indiferentes do ponto de vista do destino sobrenatural
de cada um. Este ambiente integrista explica também a influ-
ência do discurso teológico sobre outros universos normativos,
como, designadamente, o direito secular. Por outro lado, teo-
logia moral (como também o do direito) da Época Moderna é
dominada pela ideia de que cada acto concreto está tão
individualizadamente ligado ao seu contexto que mal pode
ser regulado por fórmulas gerais. O resultado é uma exube-
rante literatura casuística, descrevendo com minúcia as mais
diversas situações morais e propondo para cada uma delas
um juízo particular. Trata-se do “molinismo”, designação
286 Sobre os manuais de confessores, v., para Portugal, Bethencourt, 1990.
199
livro_antonio_m_espanha.p65 199 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
proveniente do nome de um dos grandes teólogos morais
da época, o jesuíta Luís de Molina (1536-1600).
A capacidade que esta produção doutrinal tinha de
influenciar os comportamentos quotidianos era enorme. Não
porque as fontes originais do pensamento teológico fossem
directamente acessíveis à generalidade das pessoas. Pelo con-
trário, elas constituíam um universo literário bastante
hennético, escrito em latim e pleno de referências que apenas
um erudito podia decifrar. Mas a cultura teológica tinha uma
intenção eminentemente prática e dispunha de uma série
de mediações que a faziam acessível à massa dos fiéis.
Uma delas era a pregação, nomeadamente a pregação
dominical, que constituía um eficacíssimo instrumento de
disciplina das comunidades de crentes287 . Outro, a confis-
são, preceito pelo menos anual para cada fiel, por meio da
qual se exercia uma disciplina personalizada e se atingiam
os níveis mais íntimos da conduta de cada um. Se a pregação
podia “entrar por um ouvido e sair pelo outro”, a confissão
implicava o risco da não absolvição e das penas canónicas
que daí decorriam. Nos casos mais graves, como a privação
dos sacramentos ou a excomunhão, estas penas expunham
quem violasse os preceitos canónicos a situações de margina-
lização social que eram mais graves do que muitas das penas
seculares. Pense-se na vergonha pública que constituiria, nes-
ses tempos, a impossibilidade de se casar pela igreja, de se ser
287 Sobre a eficácia disciplinadora da pregação (parenética), cf. Marques, 1989,
maxime, I,10 ss.
200
livro_antonio_m_espanha.p65 200 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
padrinho, de frequentar os sacramentos, de receber a visita
pascal, de ser enterrado canonicamente. Finalmente, a disci-
plina eclesiástica dispunha de um outro instrumento de
implementação, as visitas feitas pelo bispo ou vigário-geral a
cada paróquia da diocese, ocasião para proceder a uma de-
vassa geral da vida da comunidade, quer quanto aos aspec-
tos do culto, quer quanto a matérias de disciplina (como, por
exemplo, a existência de pecadores públicos – adúlteros, pros-
titutas, homossexuais, jogadores, usureiros)288 .
Embora o universo dogmático e disciplinar da teolo-
gia admitisse interpretações destoantes, podia dizer-se que,
no conjunto, ele ratificava – nesta época em que a dimen-
são profética da Palavra se acantonava em movimentos
místicos sempre suspeitos de heterodoxia – a ordem social e
política estabelecida. Em todo o caso, os poderes civis não
deixavam de se preocupar com o seu controlo. Domínios de
difícil intervenção eram a pregação e a confissão. Mas já
quanto às visitas e aos abusos que as autoridades eclesiásti-
cas aí podiam praticar, as Ordenações (II, 1, 13) previam
uma intervenção moderadora do rei, como protector dos
seus vassalos, contra as medidas punitivas tomadas pelos
prelados que não respeitassem, na forma ou na substância,
os preceitos do direito canónico.
288 Cf., para Portugal, Pereira, 1973; Soares, 1972; Carvalho, 1985a; 1990.
201
livro_antonio_m_espanha.p65 201 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
2.4 Um direito próprio e autónomo
A segunda fonte de disciplina eclesiástica dos com-
portamentos era o direito, o seu direito, o direito canónico,
conjunto de normas cuja observância estava garantida pela
ameaça de sanções do foro externo.
Que a Igreja dispusesse, em vista da missão sobrenatu-
ral, de poderes de constrangimento sobre os crentes em ma-
térias espirituais e que dispusesse deles de forma exclusiva
era indiscutível. Na verdade, isso corresponderia a um prin-
cípio de boa ordem da sociedade que reclamava que, para
cada domínio, existisse um e um só princípio ordenador289 ,
sob pena de confusão. A lei divina fora instituída para orde-
nar o homem para Deus, enquanto a lei humana visava a
ordenação dos homens uns em relação aos outros. Daí que
os príncipes temporais não pudessem estabelecer nada acer-
ca das coisas espirituais e divinas, pois o seu poder não lhes
fora concedido em vista da felicidade da vida futura. Pelo
que este domínio ficaria exclusivamente sujeito aos pastores
espirituais, nomeadamente ao Sumo Pontífice, gozando de
absoluta imunidade perante a jurisdição civil(13).
Mas já não o era que pretendesse a regulamentação de
matérias temporais e, muito menos, que pretendesse abran-
ger sobre o seu poder os não crentes.
Daí que estas questões tivessem sido muito discutidas
durante toda a Idade Média e Moderna, tanto mais que elas
289 Cf. S. Tomás, De regimine principum, n. 3.
202
livro_antonio_m_espanha.p65 202 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
se relacionavam com instantes problemas de natureza políti-
ca. A primeira com as relações (ou hierarquia) entre os pode-
res espiritual e temporal e a segunda com questões como a
dos direitos civis ou políticos dos judeus e infiéis, a da liber-
dade de crença ou a da partilha do mundo não cristão entre
os soberanos cristãos(14).
As fontes sagradas não eram claras quanto à prima-
zia ou não do poder espiritual sobre o temporal. Por um
lado, parecia que, considerando a hierarquia entre o Cria-
dor e a criação, entre o bem eterno e o mundano, entre o
espiritual e o temporal290 , a Igreja podia pretender um do-
mínio superior do mundo, que lhe permitisse tutelar o po-
der dos reis, limitando-o ou corrigindo-o, sempre que se afas-
tasse dos ditames de Cristo ou do seu Vigário na Terra. Esta
superioridade do poder espiritual constituía a linha orienta-
dora de uma série de cânones recolhidos no Decreto de -
Graciano (distinc., I, 10), sendo aceite pela maior parte dos
canonistas medievais e modernos(15).
Mas, por outro lado, Cristo parecia ter sido bem claro
quanto à separação das esferas dos poderes espiritual e se-
cular, nomeadamente ao distinguir, no célebre dito sobre os
tributos (redite quae sunt Caesaris, Caesari, & quae sunt Dei,
Deo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus),
os direitos de Deus dos direitos do Imperador. E esta ideia de
290 A dignidade da Igreja estaria para a dos reis, como o sol estaria para a lua, ou
como a alma estaria para o corpo (Fragoso, 1641, pt I,, lb. 2, dp. 4, epit., n. 269
e 302; pt. 2, lb. 1, d. 1, § 12, n. 283)
203
livro_antonio_m_espanha.p65 203 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
separação nítida entre as duas esferas (dizendo de outro
modo, de autonomia do poder temporal) obtinha tradução
(pelo menos alegóriea) noutros passos das Escrituras(l6). No
século V (494 d.C.), o papa Gelásio I, em carta dirigida ao
Imperador Anastácio, formula a célebre doutrina “dos dois
gládios” 291 , pela qual atribui uma mútua autonomia, nos
respectivos campos, às duas esferas políticas. Ambos visari-
am a felicidade; mas o poder temporal, contemplando mais
directamente a felicidade terrena, teria como fim a paz da
república “distinta do espiritual, e separada, e não depen-
dente, tendo em vista uma consecução mais cómoda e me-
lhor do governo económico e político” (Somoza, 1669, Pt. I,
cap. 1, n. 53). Quanto ao Sumo Pontífice, apenas potencial-
mente (in habitu) gozaria do poder temporal, contra os opres-
sores dos fiéis ou da fé292 .
O primado do poder real no temporal incluía também
o poder de direcção dos clérigos, pois estes, como membros
da república, deveriam observar as normas civis directivas
(mas não punitivas), estabelecidas em vista do bem comum;
o que abrangia a sua sujeição às leis de tabelamentos dos
preços, de requisição de bens, de serviço militar defensivo e,
mesmo, de certos tributos (pro expensis communis) (Fragoso,
1641, pt. 1, lb. 2, dp. 4, epit., n. 303).
291 “São, de facto, dois, Augusto Imperador, os poderes porque se rege principal-
mente o mundo: a autoridade dos sagrados Pontífices e o poder real” (c. duo sunt
quippe, Decretum, I, d. 96, c. 10). V. nesta distinctio, outros textos sobre o tema.
292 Somoza, 1669, Ibid.; Mo1ina, 1593, I, disp. 29.
204
livro_antonio_m_espanha.p65 204 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Com a valorização da natureza em face da graça e do
direito civil em face do direito canónico, reforça-se entre os
juristas e os teólogos ainda o peso da ideia, da autonomia, na
esfera temporal, do poder dos reis, não tanto em relação a
Deus – de quem eles são vigários e cujos ocultos desígnios
realizam (como pastores ou como castigos) – mas em relação
ao Papa e à Igreja.
Em todo o caso, esta autonomia não é ilimitada.
Na verdade, e por um lado, em face da já referida hie-
rarquia respectiva dos bens espiritual e temporal, o príncipe
devia governar de modo a não se desviar da observância dos
preceitos de Deus; embora a especificidade do governo tem-
poral pudesse justificar, ou a regulamentação de actos indi-
ferentes do ponto de vista sobrenatural, ou mesmo a autori-
zação de actos condenáveis deste ponto de vista, desde que
da sua proibição adviesse maior mal ou perigo dele293 . Em
princípio, porém, o governo temporal estava limitado pela
disciplina da Igreja, pelo menos em termos de se não poder
admitir que as leis civis autorizassem actos pecaminosos294
ou que, pela complacência dos poderes temporais, a religião
e os fiéis corressem perigo(17).
Por outro lado, os príncipes temporais só limitadamente
– i. e., enquanto o exigir o bem da república, sem qualquer
293 É o caso da permissão da prostituição, do divórcio, da usura, do teatro
profano ou dos cultos não cristãos (nomeadamente, judaico).
294 Daí o disposto nas Ord. fil., III, 64, sobre a não-aplicação do direito comum
(mas não do direito próprio) sempre que dela resultasse pecado.
205
livro_antonio_m_espanha.p65 205 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
prejuízo do múnus clerical – podiam exercer o seu poder so-
bre os eclesiásticos295 .
Assim, e apesar de uma perceptível tendência para a
desvinculação do poder civil em relação ao religioso (“secula-
rização”) (18), o direito canónico constitui, não apenas uma
fonte importantíssima de regulação autónoma da comunida-
de dos fiéis no domínio espiritual, como um instrumento da
Igreja militante para a tutela do governo temporal do mundo.
Uma parte das normas de direito canónico (como os
Dez Mandamentos) estavam contidas nas próprias Escritu-
ras, constituindo o chamado “direito divino”. Outras tinham
sido promulgadas por papas, por concílios e por sínodos, in-
tegrando o direito “da tradição”. Esta tradição fora sendo
recolhida, a partir do século XII, numa monumental colecção,
mais tarde designada por Corpus iuris canonici, uma das fon-
tes principais, não apenas do direito da Igreja, mas também
dos próprios direitos seculares.
O Corpus iuris canonici é composto de várias compila-
ções autónomas, elaboradas ao longo de três séculos, even-
tualmente contraditórias entre si. A sua primeira peça, o
Decreto de Graciano (c. 1140) ou Concordia discordantium
canonum (Concordância dos cânones discordantes), é, des-
de logo, típica deste carácter problemático e argumentativo
do direito canónico. Na verdade, o que aí se faz não é muito
mais do que recolher as normas disciplinares (e também
295 Fragoso, 1641, Ibid., n. 303; d. Ord.fil., n. 3.
206
livro_antonio_m_espanha.p65 206 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
excertos de algumas obras meramente doutrinais, como as
Etimologias, de Santo Isidoro de Sevilha, século VI) surgidas
durante quase um milénio de vida da Igreja e, por isso, fre-
quentemente contraditórias. A mais disto, Graciano apenas
resume a questão considerada e propõe para ela – num cur-
to dietum – a solução que harmonize da melhor forma os
cânones disponíveis. Normas disciplinares ulteriores, tam-
bém frequentemente contraditórias com os dieta de Graciano,
foram sendo reunidas nas compilações seguintes: as
Decretais, de Gregório IX (1234); o Sexto [livro das Decretais],
de Bonifácio VIII (1298); as Clementinas, de Clemente V
(1314); as Extravagantes, de João XXII (1324); e as Extrava-
gantes Comuns (século XV)(19). A dispersão que daqui re-
sulta, combinada com o estilo particularizante e casuista
da doutrina jurídica moderna, faz com que, tal como no
campo do direito temporal, a disciplina jurídica efectiva da
Igreja esteja contida, sobretudo, – mas sempre de forma
aberta e problemática –, nas obras doutrinais dos canonistas.
O direito canónico vigorava, naturalmente, para as
matérias espirituais (in spiritualibus), com o âmbito muito mais
vasto que estas tinham na Época Moderna (incluindo, por
exemplo, o regime do casamento, o dos pactos e contratos
jurados com invocação de Deus ou dos santos). Mas, para
além disso, de acordo com um critério trabalhosamente esta-
belecido durante a Idade Média e fixado finalmente pelo gran-
de jurista Bártolo de Saxoferrato (1314-1357), aplicava-se ain-
da às matérias temporais (in temporalibus), sempre que a so-
207
livro_antonio_m_espanha.p65 207 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
lução preconizada pelo direito secular conduzisse a pecado
(“critério do pecado”)296 . É este o critério recolhido nas Or-
denações portuguesas (“... mandamos que seja julgado [o caso,
de que se trata], sendo materia que traga pecado, por os Sa-
grados Canones. E sendo matéria, que não traga pecado, seja
julgado pelas Leis Imperiaes, posto que os Sagrados Canones
determinem o contrario [...]”, [Ord.fil.], III, 64, pr.)(20).
Mas, qualquer que fosse a delimitação teórica
estabelecida entre os domínios de vigência dos direitos secu-
lar e canónico, o que é certo é que este último – nomeada-
mente o “direito divino” – gozava de uma indesmentível for-
ça expansiva sobre a ordem jurídica civil, o que – como se
disse – se compreendia numa sociedade que se entendia a si
mesma como dirigida para o objectivo sobrenatural da sal-
vação e para uma antecipação na terra, tão efectiva quanto
possível, da “cidade divina”.
2.5 Uma jurisdição – julgar-se a si mesma... e aos outros
Uma das mais importantes prerrogativas da Igreja era
o facto de dispor de jurisdição privilegiada (“foro eclesi-
ástico”), exercida por tribunais próprios, perante a qual
podia chamar mesmo os leigos. Não é preciso encarecer a
importância política desta reserva jurisdicional, pois não será
difícil imaginar que, nos seus tribunais, as decisões fossem
mais favoráveis à Igreja e aos eclesiásticos. Ou, pelo menos,
296 Era o que acontecia, por exemplo, com a admissão, pelo direito civil, da usura
ou da prescrição aquisitiva de má fé.
208
livro_antonio_m_espanha.p65 208 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
que isto fosse imaginado pelos leigos que aí fossem chama-
dos. Mas, fosse como fosse, a existência de um foro especial
evitava a intromissão do poder secular (mesmo que só como
aplicador do direito canónico) na vida interna da Igreja.
A competência dos tribunais eclesiásticos compreendia
as questões puramente eclesiásticas, quer ratione personae,
quer ratione materiae297 .
• As primeiras eram aquelas em que uma das partes
fosse um eclesiástico –salvo nos casos em que es-
tes deviam responder perante as justiças civis(21).
• As segundas, as relativas à disciplina interna da
Igreja. Incluíam, em primeiro lugar, aquilo a que
os canonistas chamavam iurisdictio essentialis. Ou
seja: (i) causas em matéria espiritual, da competên-
cia do provisor da diocese; (ii) causas em matérias
relativas à fé(22); (iii) causas sobre disciplina inter-
na da Igreja; (iv) causas relativas ao matrimónio,
como, v. g., anulação, depósito da mulher por seví-
cias, separação de pessoas, etc. (Ord.fil., v.19, pr.).
Para além desta, incluíam a iurisdictio adventicia: (i)
causas sobre coisas sagradas (Ord. fil., II,l,l0); (ii)
causas sobre bens eclesiásticos, cuja natureza não
fosse controversa(23); (iii) causas sobre dízimos,
297 Sobre a situação da doutrina setecentista sobre as relações entre a Igreja e a Coroa
em Portugal, Rodrigues, 1988. Para uma perspectiva mais geral Genet, 1986.
209
livro_antonio_m_espanha.p65 209 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
pensões e feros; (iv) casos de usurpação da jurisdi-
ção eclesiástica; (v) causas contra leigos nos casos
de devassas e visitações (cf. Ord. fil., II,13(24); (vi)
causas contra delinquentes seculares asilados nas
igrejas (Ord. fil., II,5).
A Igreja pretendia, além disso, a competência sobre
outras matérias: como as que envolvessem pecado (com base,
um tanto forçada, em Ord. fil., III,64), como a violação de
juramentos (v. g., em contratos), aquelas em que as justiças
seculares não actuassem (denegatio iustitiae), as causas em que
existissem partes miseráveis (inopiae litigantium causa) e, em
geral, todas as causas em que os litigantes recorressem, es-
pontaneamente, às autoridades eclesiásticas (v. infra), “pror-
rogando a sua jurisdição”, como se dizia tecnicamente. No
séc. XVIII, porém, a doutrina civilística, imbuída já de
estatalismo, não reconhecia a jurisdição da Igreja nestas cau-
sas meramente civis298 .
Restavam, ainda, para a jurisdição eclesiástica as ques-
tões de “foro misto” (causae mixti fori), não avocadas por um
tribunal laico, de acordo com a regra da alternativa (25) .
No âmbito da jurisdição eclesiástica, havia também es-
pecialidades.
Para o julgamento dos membros da capela real ou dos
clérigos que residissem na corte, bem como para o das ques-
298 Cf. Pascoal de Melo, 1789, 1,5, par. 24.
210
livro_antonio_m_espanha.p65 210 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
tões relativas à existência299 de um direito de padroado, era
competente o capelão-mor, que dava recurso para o Juiz dos
Feitos da Coroa da Casa da Suplicação (cf. Barbosa, 1618,
prefácio; Pascoal de Melo, I, 5, 23).
Para o julgamento de membros das ordens militares
(Cristo, Santiago, Avis, Malta, esta gozando de um regime
um tanto particular(26), existia um ramo jurisdicional espe-
cífico. Com efeito, os cavaleiros das ordens apenas estavam
isentos da jurisdição temporal em matéria crime (e, mesmo
aqui, apenas se gozassem de uma renda suficiente) (Ord. fil.,II,
12, 1-2 [fonte: Lei de 11.2.1536, em Leão 1569, 11.3.4.])300 .
Neste caso, a competência jurisdicional de primeira instân-
cia pertencia ao Juiz dos cavaleiros das Três Ordens militares301 ,
nas questões que surgissem na corte, ou, nas restantes, aos
ouvidores junto da Mesa mestral de cada ordem. A segunda
instância era a Mesa da Consciência e Ordens302 . A terceira, o
rei, como grão-mestre das ordens militares.
Uma outra jurisdição eclesiástica especial era o Tribu-
nal do Santo Ofício da Inquisição, que gozava de competência
exclusiva em matéria de heresia, apostasia, blasfémia e sa-
crilégio, bem como de certos crimes sexuais (sodomia, Venus
nefanda) (Regimentos de 15.3.1570, 22.10.1613, 22.10.1640 e
1.9.1774; alvará 18.1.1614). Os tribunais de primeira instân-
299 Para outros aspectos, v. Ord.fil., II, 1, 7.
300 Cf. nota anterior.
301 Hespanha, 1986, l, 459 n. 162.
302 Sobre a qual, Hespanha, 1994, 251 ss..
211
livro_antonio_m_espanha.p65 211 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
cia eram os de Coimbra, Lisboa e Évora, no continente; Goa,
na Índia. Como instância de recurso, o Conselho Geral. Junto
de cada um destes tribunais existia um Juízo do Fisco, que
decidia as questões relativas ao confisco dos bens dos conde-
nados (e certas questões incidentais, como os crimes de falso
ou de resistência), bem como as questões em que uma das
partes fosse um oficial da Inquisição ou um seu privilegiado
(familiar do Santo Ofício). Os Juízos do Fisco de Lisboa e
Coimbra decidiam em definitivo das questões de confisco,
mas o de Évora estava submetido ao de Lisboa (Regimento
de 10.7.1620, ch. 25). Como foros privativos dos oficiais e
privilegiados da Inquisição, estes tribunais davam recurso para
o Conselho Geral (ibid., ch. 46).
Um outro ramo especial da jurisdição eclesiástica era o
da Bula da Cruzada, que conhecia das questões a esta relati-
vas, como o arrendamento das suas rendas ou, em geral, to-
dos os litígios que daí decorressem (Regimento da Bula da Cru-
zada, de 10.5.1634, ns. 11, 12 e 16). A instância jurisdiciona1
era a Junta ou Tribunal da Bula da Cruzada, que conhecia, por-
tanto, dos recursos (de apelação ou agravo) dos Comissários
da Bula, bem como dos recursos das decisões dos Provedores,
quando actuassem como juízes especiais dos oficiais e pesso-
as privilegiadas da Bula (alvará de 28.9.1761).
Mesmo prescindindo destes casos especiais, vale a pena
reflectir sobre a enorme extensão da jurisdição dos tribunais
da Igreja. De facto, a eles podiam ser trazidas não apenas as
questões em que uma das partes fosse a Igreja, uma comu-
212
livro_antonio_m_espanha.p65 212 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
nidade religiosa ou um eclesiástico (ainda que a outra parte o
não fosse), como uma vastíssima série de questões entre secu-
lares que caíam na competência material do foro eclesiástico.
Mas, para além da competência contenciosa reservada
a que nos referimos, a Igreja dispunha ainda de uma compe-
tência jurisdicional voluntária, para aqueles casos em que as
partes, por sua livre vontade, quisessem resolver os litígios
perante um tribunal (ou entidade) eclesiástico (jurisdição
“arbitral” ou “voluntária”). Estudos recentes têm revelado a
extraordinária importância destes mecanismos de resolução
de conflitos, o modo como a Igreja os promovia, incitando os
fiéis a uma resolução “amigável e fraterna” (compositio fra-
terna, correctio charitativa), sob a sua égide, em vez de uma
resolução conflitiva perante os tribunais de justiça. O que,
naturalmente, contribuía para aumentar o poder disciplinar
da Igreja e dos eclesiásticos – nomeadamente dos párocos,
mediadores naturais nas pequenas comunidades de crentes
–, tanto quanto minava o impacto da justiça secular303 .
A estas prerrogativas de foro, acresce o facto de que os
lugares eclesiásticos gozavam, ainda, de imunidade. Uma das
suas manifestações mais importantes era a do “direito de asi-
lo” (Ord. fil., II, V), apesar das suas múltiplas limitações (não
valia para os crimes mais graves, nem para os crimes
dolosos)304 , a que correspondia, no plano positivo, a compe-
303 Cf., sobre os processos de mediação de conflitos, Hespanha, 1993, nomeada-
mente os estudos de N. Castan, M. Clanchy e E. Power.
304 Cf., Hespanha, 1994.
213
livro_antonio_m_espanha.p65 213 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
tência das autoridades eclesiásticas para punirem os asilados
(cf. supra). Bem como, num plano já um tanto diverso, a imu-
nidade fiscal que, constituindo embora uma regra de direito
comum, tutelada por uma das excomunhões da Bula da Ceia
(Bula in coena Domini, excomunhões 5 e 18), estava limitada,
em face do direito nacional, aos casos de isenção expressa305 .
2.6 As pequenas vitórias do outro gládio
Claro que esta situação privilegiada da Igreja era vista
com preocupação pela coroa, que tentava atenuá-la de di-
versas formas.
Uma delas era o beneplácito régio, instituído ainda
durante a primeira dinastia, que obrigava a que as “cartas
de Roma” fossem sujeitas, antes da sua publicação, à apro-
vação régia (cf. Ord. af, II,12). Mas o controlo da comuni-
cação directa com Roma era ainda procurado por outras
formas; assim, a coroa proibia que se pedissem
directamente a Roma privilégios sobre bens ou benefícios
eclesiásticos (cf. Ord. fil., II, 13; 14; 19), como forma de
evitar, ou que o Papa chamasse a si a concessão de benesses
que, de outro modo, sairiam da mão do rei, ou que se ge-
rassem conflitos entre beneficiados da Cúria romana e be-
neficiados por qualquer entidade eclesiástica (bispos, ca-
bidos, abades de ordens) portuguesa.
305 Era o caso da dízima, da portagem e da sisa (Ord. fil., II, 11, 1; II, 1, 19); mas
os eclesiásticos estavam sujeitos a jugadas, salvo privilégio (Ord. fil., II, 33, 8;
57,1; 33, 25). Sobre o tema, Hespanha, 1994.
214
livro_antonio_m_espanha.p65 214 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Outra prerrogativa régia era a de proteger os seus
súbditos naturais contra as violências dos eclesiásticos (a re-
gia protectio, cf. Ord. fil., II,. 1, 13; II, 3), bem como a de punir
pela justiça os criminosos que não o tivessem sido devida-
mente pela justiça eclesiástica. O texto das Ordenações (Ord.
fil., II, 3) em que o rei reivindica esta possibilidade é um mo-
delo de cautelas, denunciador da debilidade das prerrogati-
vas régias perante a Igreja e os eclesiásticos(27). O rei, depois
de multiplicar as declarações de que não está a usar das suas
prerrogativas de justiça – que ofenderiam as isenções
jurisdicionais da Igreja –, invoca apenas os seus poderes de
gestão dos seus bens (as suas atribuições “domésticas”) para
poder tirar aos clérigos malfeitores os bens que dele tivessem.
Outra forma de penetração real era o direito de
padroado, ou seja, a faculdade de apresentar dignidades ecle-
siásticas em inúmeras capelanias(28). Este direito, que exis-
tia também em favor de outras entidades eclesiásticas ou se-
culares (v. infra), possibilitava a constituição de redes
clientelares e, deste modo, a organização de círculos própri-
os de poder que não deixavam de introduzir fissuras no blo-
co do poder eclesiástico.
O controlo da coroa ainda se consubstanciava numa
série importante de interdições que recaíam sobre a Igreja
e os eclesiásticos. Uma das mais importantes era a de ad-
quirir bens de raiz (por parte da Igreja ou de instituições reli-
giosas, mas não por parte de clérigos, Ord. fil., II, 18). Embo-
ra, na prática, esta norma não fosse praticada, ela não dei-
215
livro_antonio_m_espanha.p65 215 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
xou de constituir, em certos contextos de crise das relações
entre a Coroa e a Igreja (como no período olivarista, a propó-
sito da tributação da Igreja), uma forma de pressão. Para
além disso, impendiam sobre a Igreja outras interdições: proi-
bição de aceitar penhores (Ord. fil., II, 24); de possuir bens
nos reguengos (Ord. fil., II, 16; 13, 6). Quanto aos clérigos:
proibição de sucederem em bens da coroa e nos morgados
(Ord. fil., II,16); de porte de armas (Ord. fil., II,1,26); de exer-
cício do comércio (Ord.fil., IV, 16); de exercício da advocacia
(Ord.fil., III, 28,1); de terem cargos de tabelião (Ord.fil., I, 80,4);
de pedir benefícios ou juízes apostólicos para Roma (Ord. fil.,
II,13,1; L. 10.12.1515, [Leão 1569 4,12,4]; L. 3.11.1512); de
atacar os privilégios do reino em relação à Santa Sé (Ord. fil.,
11, 15; L. 27.5.1516 [Leão 1569,4.12.1]).
Em contrapartida, a Igreja obtinha protecção das auto-
ridades temporais que, além de reconhecerem a sua autono-
mia político-institucional nos termos referidos, tutelam o exer-
cício do seu múnus, pastoral e profético, e auxiliam a manter
a disciplina eclesiástica e asseguram a punição temporal dos
crimes religiosos (prov. de 4.2.1496; Ord.fil., I, 6,9; 11,8).
2.7 Uma malha político-administrativa
A malha do oficialato da Igreja não tinha equivalen-
te na época. Desde Roma até a uma paróquia perdida da
Beira, a Igreja dispunha de uma malha de oficiais e institui-
ções que cobriam eficazmente o território e garantiam com
216
livro_antonio_m_espanha.p65 216 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
uma eficácia absolutamente excepcional para a época as di-
versas funções que lhe competiam, desde as puramente espi-
rituais, até às do foro externo, como a realização da justiça
ou a cobrança dos tributos eclesiásticos.
Neste último domínio, dispomos, de resto, de impressivos
exemplos da eficácia comparada dos aparelhos administrati-
vos eclesiástico e secular. Um deles refere-se à décima militar,
criada, logo a seguir à Restauração, para o financiamento da
guerra. A sua fonte inspiradora era a dízima eclesiástica, equi-
valente a um décimo da produção, cobrada em todas as paró-
quias. Apesar de se ter montado uma complexa estrutura para
o lançamento e cobrança do novo imposto, a administração
secular nunca conseguiu atingir nem a metade do que se esti-
mava ser o rendimento da dízima a Deus.
Mas, para além deste aspecto da eficácia, a Igreja criou
um enorme repositório de princípios, máximas e conceitos
relacionados com a administração. Não admira, por isso, que
a teoria jurídica e as técnicas de organização do oficialato
da Igreja tenham constituído a matriz intelectual sobre que
assentou a administração civil, nomeadamente nos aspec-
tos não jurisdicionais (pois, nestes últimos, a influência
do direito romano foi maior).
O conceito mais geral para designar um cargo eclesiásti-
co é o de ofício. O ofício consiste na administração de uma
“coisa ou assunto eclesiástico” (res ecclesiastica). Ao ofício
corresponde, portanto, uma função e a atribuição dos poderes
217
livro_antonio_m_espanha.p65 217 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
(jurisdição) correspondentes. Assim, à colação (ou dada, entre-
ga) de um ofício corresponde a atribuição de uma jurisdição306 .
Como, na estrutura administrativa da Igreja, ao desem-
penho de uma função correspondia a percepção de uma ren-
da, de um “benefício” (cf., supra, 11.2.), esta última designa-
ção passou, progressivamente a substituir a primeira, tanto
mais que se multiplicavam os casos em que a função associa-
da à percepção da renda se tinha extinguido. Assim, ofício e
benefício passam a constituir sinónimos, designando a mes-
ma coisa, embora sob perspectivas diferentes. Em certos ca-
sos, à jurisdição (ordinária) correspondia uma certa prima-
zia ou preeminência, nomeadamente nos actos litúrgicos ou
capitulares (“no coro ou no capítulo”); falava-se, nestes ca-
sos, de uma dignidade. Em contrapartida, se esta primazia
era meramente honorífica, não comportando qualquer juris-
dição (i. e., não se unindo a qualquer ofício), falava-se de uma
simples pessoa (personatus). No caso de esta primazia se limi-
tar à percepção de um rendimento, falava-se de uma prebenda
ou conezia(29). Os ofícios (ou benefícios) podiam ainda ser
seculares e regulares (i. e., importando a vida em comunida-
de sob uma regra ou cânon), simples ou curados (i. e., envol-
vendo a cura de almas e administração de sacramentos).
Todos estes estatutos podiam estar regulados ou no direito
canónico comum (nomeadamente, no C.I. Can.) ou no direi-
306 Se o ofício é “perpétuo” (no sentido de indisponível por quem o dá), a jurisdi-
ção é ordinária; se é precário, a jurisdição é delegada.
218
livro_antonio_m_espanha.p65 218 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
to canónico particular, constante de normas diocesanas par-
ticulares, escritas ou costumeiras307 .
A concessão dos ofícios eclesiásticos fora inicialmente
papal. Mas, por direito comum, os bispos tinham adquirido
um direito (intentio fundata), cumulativo com o do Papa, à
concessão dos benefícios da sua diocese. Para evitar conflitos
de competência, vigorava a regra da “alternativa”, pela qual
cada uma destas entidades concedia os ofícios durante seis
meses intercalados do ano308 .
Da concessão ou colação de benefícios deve distinguir-se
a apresentação, ou direito de propositura. Em certos casos, a
apresentação dos benefícios eclesiásticos podia caber a outra
entidade, eclesiástica ou leiga, nos termos do direito de padroado.
O direito de padroado é, segundo a definição de S. To-
más de Aquino, “o direito de apresentar clérigo para um be-
nefício eclesiástico”(30). Trata-se, na expressão do principal
tratadista português da Época Moderna (Bento Cardoso
Osório), de um direito honorífico, oneroso e útil sobre algu-
ma igreja ou renda eclesiástica que compete a alguém que,
com o consentimento do Ordinário, erigiu uma igreja ou be-
nefício ou os dotou ou que herdou esse direito de quem o
tenha feito dotado” (cf. Osório, 1736, res. I, n. 3/4)309 .
307 Sobre este tema, v., v. g., Barbosa, 1632, cap. IV; mais recente, útil como
roteiro, Carneiro, 1869, § 121 ss.
308 Cf. Fragoso, 1641, pt. II, lb. 1, dp. 20, § 1, ns. I ss. (655 ss.).
309 O Concílio de Trento (sess. 25, cap. 9) exigiu, pelo menos, documento autên-
tico ou posse imemorial para prova do direito de padroado, mandando consi-
derar como nulos todos os padroados fundados noutros títulos, salvo quando
os seus titulares fossem os reis ou imperador (cf. Bernhard, 1990,377 s.).
219
livro_antonio_m_espanha.p65 219 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Tal direito diz-se honorífico, pois encerra certas hon-
ras, como a de apresentar (í. e., indicar ao titular do direito
de nomeação ou colação, normalmente o bispo) o titular do
benefício (normalmente o reitor ou capelão da Igreja), a de
ter a precedência nos actos de culto (como as procissões, os
ofícios, a bênção, etc.), a de ter direito a preces, a cadeira
especial na Igreja ou no coro, a ter sepultura em lugar de
destaque, etc. (íbid., ns. 7/11).
Diz-se oneroso, porque sobre o patrono recai o ónus de
defender a igreja ou capela do seu padroado e de impedir
que os seus bens se dilapidem (n. 12).
Diz-se útil, pois o patrono, sua mulher e família têm
direito a ser socorridos pelos rendimentos da Igreja se caí-
rem na miséria (n. 14). O Concílio de Trento (sess. 25, cap.
9) proibiu os patronos de se imiscuírem na percepção dos
rendimentos do benefício, deixando-os na livre disposição
do beneficiado 310 .
O padroado pode ser eclesiástico, leigo ou misto (Osório,
1736, res. II, n. 1), consoante o benefício foi dotado com bens
da Igreja ou com bens de leigos. Os padroados não podiam
ser vendidos, mas transmitiam-se por herança (íbid., n. 6). O
Concílio de Trento, no sentido de libertar as igrejas e benefí-
cios dos direitos de padroado, extinguiu a possibilidade de
transmissão mortis causa dos padroados, apenas exceptuando
aqueles de que fossem titulares os reis ou imperadores311 .
310 Cf. Le Bras, 1990, XIV, 378.
311 O padroado real português manteve-se, portanto.
220
livro_antonio_m_espanha.p65 220 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Apesar de a apresentação do beneficiado pertencer ao
patrono, a sua colação pertence ao ordinário(31). Nos
padroados eclesiásticos, o direito de apresentação é partilha-
do com a Santa Sé(32).
Ao benefício ou igreja sobre o qual impende o direito
de padroado pode ser dado um comendador, ou seja, alguém
encarregado de os proteger. Nesse caso, ficam impendendo
sobre os mesmos bens eclesiásticos tanto os direitos do pa-
droeiro como os do comendador. No entanto, o comendador
não faz suas as rendas do padroado, a não ser que isso tenha
sido previsto no acto da instituição da comenda (Osório, 1736,
p. 90, n. 2), assim como não adquire o direito de apresenta-
ção dos beneficiados (ibid., pg. 91, n. 1). Apesar destes prin-
cípios, os conflitos entre padroeiros e comendadores não fo-
ram raros, existindo diplomas de composição geral, estabele-
cendo a repartição das rendas do benefício por uns e outros
(cf. exemplo em Osório, 1736, p. 93 s.).
a) Bispos
O ofício eclesiástico central era o de bispo. O próprio
Papa se intitulava bispo de Roma, tratando de irmãos os res-
tantes bispos (ao passo que tratava os reis por filhos). A diocese
era, portanto, a célula básica da administração da Igreja.
Os bispos gozavam da jurisdição ordinária na sua
diocese. As suas competências312 eram: (i) a administração
312 Cf. Barbosa, 1623.
221
livro_antonio_m_espanha.p65 221 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
privativa de certos sacramentos e funções (crisma, ordena-
ção, consagração de igrejas ou altares, bênção de certas al-
faias de culto); (ii) a jurisdição espiritual (voluntária e
contenciosa) universal(33) sobre os fiéis e coisas eclesiásticas
da sua diocese, abrangendo acominação de censuras e certas
penas, a visitação e percepção dos respectivos direitos313 ; e
(iii) a administração dos bens da mesa episcopal ou “da
mitra”314 (34). No domínio da jurisdição contenciosa, os bis-
pos eram, na diocese, os magistrados eclesiásticos ordinários
de primeira instância (câmara ou curia, tribunal do bispo) even-
tualmente assessorados (até 1832) pelas Mesas de justiça, cons-
tituídas pelos “desembargadores episcopais” e apoiadas pe-
los vigários episcopais (arciprestes, arcedíagos, vigários gerais) e
por outros oficiais (promotor, escrivão da câmara, notário apos-
tólico, distribuidor e contador)315 .
A segunda instância era constituída pelas Relações ecle-
siásticas, tribunais colectivos com sede nas cabeças das
dioceses metropolitanas (Lisboa, Braga e Évora, no Conti-
nente; Goa, na Índia)(35). A terceira instância era constitu-
ída, a partir do séc. XVII, pelo Tribunal da Nunciatura ou da
Legacia316 . O Tribunal da Nunciatura tinha ainda jurisdi-
313 Direito catedrático (ou cêras) e colecta (ou procuração).
314 A partir do séc. XII, nos bens diocesanos distinguem-se os da mitra, adminis-
trados pelo bispo e os do cabido, administrados por este.
315 Cf. Carneiro, 1896, 397-403.
316 Na origem deste tribunal esteve uma bula de Júlio III, de 21.7.1554, segundo
a qual as causas julgadas no reino não teriam recurso para a Santa Sé; assim,
tais recursos eram também proibidos pela lei do reino (Ord. fil., II, 13, pr.; cf.
ainda Carneiro, 1896, 406).
222
livro_antonio_m_espanha.p65 222 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
ção de segunda instância para as causas das dioceses me-
tropolitanas e dos territórios isentos de qualquer diocese
(exempti nullius diocesis). Das decisões deste tribunal havia
recurso (de “agravo” e de “apelação”) para a coroa, nos
limites reconhecidos pela doutrina da regia protectio (nome-
adamente em caso de abusos da jurisdição)317 . O Tribunal
da Nunciatura foi abolido pelo decreto de 23.8.1833 e subs-
tituído (em 1848: convenção de 21.10.1848, art. 12; Lei de
4.9.1851) pelas secções de recurso ou pontifícias, cujos juízes
eram nomeados pelo rei, sob proposta do núncio.
Os tribunais eclesiásticos não tinham a possibilidade de
dispor de meios coactivos temporais (desde uma lei de
4.2.1496). As disposições do Concílio de Trento que reclama-
vam faculdades executivas para os tribunais eclesiásticos (sess.
XXV, cap. III, de reformat.) não foram recebidas318 ; por isso,
em caso de necessidade, as medidas coercivas deviam ser
requeridas ao braço secular (ajuda do braço secular, Ord. fil.,
II,8), por meio de pedido dirigido ao juiz territorialmente com-
petente (Carneiro, 1896, p. 433).
317 Cf. aviso 3.7.1672 e Pascoal de Melo 1789, IV,7,34; magistrado competente:
Juiz dos feitos da coroa da Casa da Suplicaçâo (Ord. fil., I,9,12; I, 12,5/6). Este
recurso (neste caso, de agravo) existia em todos os casos de abuso da jurisdição
eclesiástica (cf. Ord.fil., II,1,12-14; cf. Castro 1622; Sampaio, 1793, 109 ss.).
318 Cf. L. 2.3.1568, em Leão 1569, 279. A provisão de 19.3.1569 (= concórdia de
1578, art. XII) não foi recebida pelas Ord. fil. Sobre este tema, Caetano, 1965 e,
agora, Carvalho, 1988.
223
livro_antonio_m_espanha.p65 223 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
b) Cônegos
As conezias (ou canonicatos) são outros ofícios eclesi-
ásticos de nível diocesano. A instituição de cónegos dioce-
sanos remonta aos primeiros tempos da Igreja. Tratava-se de
oficiais eclesiásticos escolhidos pelo bispo, para o ajudar e se
ocuparem das funções litúrgicas ou administrativas da sé.
Como viviam em comunidade e debaixo de uma regra (canon),
recebiam o nome de cónegos (do latim canonicus, depois
cónegos). Com o tempo, distinguiram-se dois tipos de cónegos,
os regulares e os seculares. Os primeiros – de que se desta-
cam os cónegos regulares de Santo Agostinho – vivem em
comunidade e sob voto de pobreza, não podendo possuir
quaisquer bens pessoais, nem mesmo em administração(36).
Quanto aos cónegos regulares, viviam fora da catedral, ten-
do, porém, aí alguma função (i. e., tendo aí um ofício) ou
recebendo, apenas, aí alguma prebenda. Na Época Moder-
na, são estes que constituem a regra319 . Os ofícios canónicos
eram vários. Deles se distinguiam alguns, instituídos por di-
reito comum. Assim, o arcedíago (archidiaconus) ou primeiro
diácono substituía o bispo nas suas funções temporais, no-
meadamente judiciais320 . Nestas últimas funções adquiriram
tal importância que, pouco a pouco, a sua jurisdição foi sen-
do considerada como ordinário (e não delegada pelo bispo);
o Concílio de Trento reagiu contra este abuso, reafirmando o
carácter apenas delegado da sua jurisdição e retirando-lhes
319 Cf. Barbosa, 1632, c. I, n. 46.
320 Decr. Greg. IX, I, 23; Barbosa, 1632, c. 5; Carneiro, 1896, 398.
224
livro_antonio_m_espanha.p65 224 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
a competência para conhecerem das causas criminais e ma-
trimoniais (sess. 29, cap. XX, de reformat.). No entanto, a dou-
trina seiscentista continua a atribuir-lhes a primazia sobre os
restantes cónegos e a entender que os costumes que lhe con-
feriam jurisdição mais vasta (nomeadamente, jurisdição or-
dinária) prevaleciam sobre o direito comum321 -322 . O arcipreste
(archipresbytero) ou primeiro presbítero velava pelo exercício
do culto e substituía o bispo nas funções sacerdotais323 -324 .
Existiam outros ofícios, dignidades e primazias capitulares
(ou canónicas, canonicatos), instituídas pelo direito particu-
lar, escrito ou costumeiro de cada diocese325 : tesoureiro, cus-
tódio, sacristão, primiceiro, chantre, preposto, mestre-esco-
la, prior326 e simples conezias(37).
O colégio dos cónegos formava o cabido (ou capítulo)
com importantes funções na vida da diocese. Estando esta
provida de bispo (sede plena), cabe ao cabido aconselhar e
auxiliar o bispo nos assuntos árduos da diocese, nomeada-
mente relativos a benefícios327 . Para além disso, e como com-
petência própria, administra os bens próprios do cabido328 .
321 Barbosa, 1632, c. v. n. 36 ss.
322 O deão (decanus) era o cónego que presidia ao capítulo, normalmente o mais
velho. Não se tratava de um ofício ou dignidade, pois não tinha jurisdição; mas
apenas de uma primazia (Barbosa, 1632, c. 7).
323 Decr. Greg. IX, I, 24; Barbosa, 1632, c. 6; Carneiro 1896, 182.
324 Os arciprestes urbanos exerciam nas catedrais e os rurais (forâneos ou vigários
da vara) tutelavam um grupo de paróquias.
325 Para estes cargos, v. Barbosa, 1623 c. 8 ss.
326 Os priores podem ser regulares e seculares e estes colegiais ou rurais. Os
últimos equivalem a párocos com lugar no cabido.
327 Decr Greg. IX, II,10,4; Carneiro, 1896, 164.
328 Carneiro, 1896, 165.
225
livro_antonio_m_espanha.p65 225 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Estando a sé vaga (sede vacante), o cabido exerce o poder epis-
copal, a título de administrador do bispado, designando um
vigário capitular329 . Ao lado dos cabidos, como colégios de
cónegos, criaram-se ainda as colegiadas, presididas por um
preposto (ou prior), que agrupavam os cónegos que não pu-
dessem ter lugar no cabido catedralício330 .
c) Párocos
O pároco constitui o mais comum dos ofícios da Igreja.
A sua função fora definida por Cristo como a de “apascen-
tar as suas ovelhas”, tarefa que os comentadores subdividi-
am em apascentar pela palavra, pelo exemplo e pela oração
e que o concílio de Trento concretizara da seguinte forma:
“... vigiar as Suas ovelhas, oferecer sacrifícios por elas,
apascentá-las [=alimentá-las] pela pregação da palavra divi-
na, pela administração dos sacramentos e pelo bom exemplo
em todas as obras; cuidar dos pobres e outras pessoas mise-
ráveis com cuidado paterno e incumbir-se das restantes tare-
fas pastorais” (sess. 23, can. 1).
A vigilância dos fiéis consiste no seu conhecimento (no
seu registo)(38) e no permanente cuidado em os defender dos
maus costumes e em promover neles os bons (Abreu, 1700,
lib. 2, cap. 2 e lib. 3). Do dever de oferecer sacrifícios, salien-
329 Nos tempos primitivos, os cabidos elegiam o novo bispo; na Época Moderna,
essa nomeação é papal, mediante prévia apresentação do rei; mesmo os vigá-
rios capitulares deviam ser “insinuados” pelo rei; cf. Carneiro, 167 s.
330 Foram muito abundantes, tendo sido extintas em 1846, com excepção das
mais importantes (lista em Carneiro, 1869, 179).
226
livro_antonio_m_espanha.p65 226 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
ta-se a celebração quotidiana do sacrifício da Missa (ibid., cap.
3 e lib. 4); mas ainda orações, jejuns e outros sacrifícios pelo
bem do seu povo. Do dever de pregação faz parte o anúncio
solene da palavra de Deus pelo sermão, o ensino (aos domin-
gos e dias santos) da doutrina da fé compendiada no catecis-
mo, ou, pelo menos dos seus rudimentos(39). A administra-
ção dos sacramentos constitui a tarefa mais elevada do múnus
paroquial, pois é pelos sacramentos que o pároco prepara os
fiéis para receberem a graça divina331 -332 e, logo, a salvação.
Deve ainda dar o exemplo na conversação (abstendo-se de
conversas torpes, maledicentes e desonestas) e nos costumes
(cultivando as virtudes, nomeadamente, a castidade, a tem-
perança e a caridade)333 (Abreu, 1700, lib. 2, c. 8 a 10, lib. 6),
bem como demonstrar um contínuo amor e zelo pelo bem-
estar dos fregueses a seu cargo constituem outra das funções
do pároco. Este conjunto de funções dirigidas ao foro interno
(cura penitencial) distingue-se das funções disciplinares exte-
riores ou contenciosas dos bispos (visitação, excomunhão,
imposição de penas canónicas).
331 Note-se como, nesta formulação “pós-tridentina”, a função sacramental dos
párocos condiciona a “recepção da graça”. Entre os sacramentos destacava-se
o da penitência, pelo qual o pároco adquiria o poder de ligar e desligar em
relação à Igreja. Sobre a função sacramental, v. Abreu, 1700, c. 7 e lib. 9.
332 Os sacramentos administrados pelo pároco são o baptismo, a penitência, a
eucaristia e a extrema unção. O matrimónio é administrado pelos próprios
nubentes e a confirmação (ou crisma) e a ordem pelos bispos.
333 Aos párocos estava especialmente proibido o convívio em tabernas, a embri-
aguez, uma pose descomposta (grandes risadas, altas vozes, correrias, vestes
imodestas ou sórdidas), o teatro, as touradas, os jogos (salvo o xadrez), a
caça, a pesca, o comércio ou agricultura profissionais, o porte de armas, Barbo-
sa, 1632a, I, c. 6.
227
livro_antonio_m_espanha.p65 227 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
O âmbito de exercício das funções do pároco é a paró-
quia ou freguesia (de fregueses = filii ecclesiae, filhos da igre-
ja), definida por limites territoriais ou pessoais(40). Nas pa-
róquias grandes, ao pároco podem ser designados ajudan-
tes ou coadjutores, também designados simples curas, cujo
múnus pode ser circunscrito a uma certa circunscrição
territorial (curado)334 (41).
A cura de almas era um benefício, ou seja uma função a
que estava anexo o direito de perceber certas rendas. Neste
caso, as rendas provinham de ofertas dos fiéis (oblatas, ofer-
tas) destinavam-se à manutenção do culto e ao sustento
“congruo” do pároco (daí “côngrua”; como parte das ren-
das destinadas ao sustento do pároco). Entendia-se que as
ofertas eram feitas a Deus(42) obrigatórias apenas no plano
da consciência(43). O seu conteúdo, quantidade e periodici-
dade decorria do direito costumeiro das paróquias, embora
existissem normas sobre elas no direito canónico geral335 .
A primeira categoria de rendas eram as dos bens ad-
quiridos pela Igreja ou por contrato ou por deixas testamen-
tárias (legados pios [v. g., “terças dos mortos” v. infra], dei-
xas pro anima [mortulhas, lutuosas, aniversários])336 (44).
334 Com o tempo, muitos curados transformam-se em novas paróquias, adqui-
rindo o seu cura funções paroquiais autónomas e não apenas delegadas.
335 Cf. Barbosa, 1623, loc. cit.; e Lobão, 1819 (que podem servir de guias para o
estudo mais aprofundado deste tema).
336 Ou seja, bens deixados para missas por alma de alguém (Fragoso, 1641, II,
10, disp. 24, n. 3).
228
livro_antonio_m_espanha.p65 228 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
A segunda categoria era a dos dízimos. Os dízimos ou
décimas eclesiásticas consistiam na retribuição, institucio-
nalizada pelos poderes eclesiástico e temporal desde o séc.
VIII337 oferecida pelos crentes aos ministros que administra-
vam os sacramentos. Consistiam na décima parte dos frutos,
tanto da terra e de casas (decimas prediais), como da indús-
tria humana, quer simples (v. g., rendas do trabalho, décimas
pessoais) quer combinada com a natureza (v. g., produção de
rebanhos, décimas mistas) (Barbosa, 1623, I, c. 28, n. 9). Tra-
tava-se, assim, de um tributo de incidência muito geral; pa-
gavam-se – na enumeração de um autor da época (Barbosa,
ibid., § 1, n. 1 ss.) – de todos os frutos de prédios ou de indús-
tria humana: de trigo e grão, palha, vinho, favas e outros
legumes, nozes, amêndoas e castanhas, azeite, açúcar, pei-
xes, abelhas, mel, cera, leite, lã, caça, pastos, lenha, feno, li-
nho e cânhamo; de negócio e artifício, soldos militares, salá-
rios de advogados e procuradores, minas, moinhos, herança,
legado ou doação, rendas da indústria ou trabalho (45).
A taxa era de dez um, sem dedução das despesas, pelo
menos nas prediais (46). Eram devidas338 por todos os paro-
quianos (ainda que eclesiásticos, salvo costume ou privilégio
papal (47). O seu titular era o pároco (Barbosa, 1623, I, c. 28,
§2, n. 7 ss.); embora, desde uma célebre capitular de Carlos
337 Sobre a história das décimas, V. Lobão, 1819, 86 ss., maxime, 96. Fontes de
direito canónico, Decretais, III, 30 (De decimis, primitiis et oblationibus).
338 As Decretais (III, 30,14) dizem que elas constituem um quasi debitum exigível
em juízo.
229
livro_antonio_m_espanha.p65 229 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Magno, se tivesse estabelecido a regra de dividir o produto
das décimas em quatro partes, uma para os pobres, outra
para a fábrica da Igreja, outra para o pároco e outra para o
bispo. Esta repartição variou com os costumes diocesanos; os
bispos participavam em geral de uma parte das décimas (quar-
ta ou terça episcopal ou pontifical)339 . Mas, sobretudo, as déci-
mas andavam geralmente doadas aos patronos das igrejas:
sés, mosteiros, ordens militares e mesmo leigos340 .
Finalmente, constituía receitas dos párocos uma série
variável de ofertas feitas pelos fiéis em certas épocas festivas,
por ocasião (e em retribuição) da administração de certos
sacramentos ou na altura dos ofícios fúnebres e funerais.
Eram as oblationes, oblatas (ou obradas) ou benesses341 .
Estas ofertas estavam na tradição da Igreja como for-
ma de participação das comunidades no sustento do culto.
Mas, instituídos os dízimos, a sua necessidade e legitimidade
começou a ser discutida. Quanto à necessidade, ela teria dei-
xado de existir, pois os dízimos poderiam assegurar a côngrua
dos párocos. Quanto à legitimidade, argumentava-se que as
funções sagradas não podiam ser vendidas, sob pena de
simonia. Para além disso, discutia-se a questão central de saber
se tais ofertas eram meramente voluntárias ou se, pelo con-
339 Cf. Decretais. III, 30, 13; para Portugal, Viterbo, Elucidário, v. “Terças pontificais”.
340 As Decretais (III, 30, 15 e 17), proíbem a concessão de décimas a leigos. Mas
esta proibição podia ser contornada por privilégio papal (cf. Barbosa, 1623,
Ibid., n. 50 ss.). Também se admitia a invocação de concessão ou prescrição
anterior ao concílio de Latrão (1139).
341 Sobre elas, v., por todos, Barbosa, 1623, l, caps. 24 a 27; Lobão, 1819.
230
livro_antonio_m_espanha.p65 230 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
trário, podiam ser exigidas. Na Época Moderna, toda esta
discussão se concretiza na interpretação de um texto das
decrettais (De simonia [V,3]342 42) que, embora declarando
meramente voluntárias, condenava aqueles que induziam os
crentes a não seguirem o “louvável costume” de fazer ofer-
tas aos párocos “pelas exéquias dos mortos, pelas bênçãos,
pelos casamentos e coisas semelhantes”. Na interpretação
comum dos decretalistas, este texto acabava por estabelecer
a obrigatoriedade e exigibilidade das ofertas usuais343 .
O concílio de Trento, apesar de alguém ter proposto o
restabelecimento da doutrina primitiva do carácter livre das
ofertas, não se pronunciou sobre este delicadíssimo tema. A
questão tornara-se, de resto, muito sensível. Na verdade, uma
parte substancial dos dízimos estava geralmente apropriada
por entidades, eclesiásticas ou laicas, titulares do direito de
padroado (ou de apresentação do pároco), o que deixava o
culto e os párocos sem os rendimentos suficientes. Estes ten-
tavam então forçar os paroquianos a ofertas específicas e
suplementares para o seu sustento (a título de funerais, ani-
versários, casamentos, baptismos e outras propinas pela ad-
ministração dos sacramentos)344 . Daí que qualquer medida
tendente a restringir abusos neste domínio fazia correr o ris-
342 “Sobre a simonia e que ninguem exija ou prometa algo em troca de coisas
espirituais” (epígrafe do título v.3).
343 Estas prestações estabelecidas pelo costume são, por isso, chamadas usuais
(quando tivessem lugar em época certa) ou casuais (quando correspondessem
a actos de culto sem momento certo [incertus an, incertus quando]).
344 Cf. Lobão, 1819, 94, 97. V. ainda Frei Joaquim de Santa Rosa Viterbo, Elucidario
..., vs. “decimas”, “mortalhas”, “obradas”, “obladas”, “tenças pontifícias”, etc.
231
livro_antonio_m_espanha.p65 231 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
co de uma geral insatisfação dos curas de almas. É isto que
explica o silêncio do Concílio de Trento sobre o assunto; que,
no entanto, aí chegou a ser levantado (Lobão, 1819, p. 114).
Em Portugal, a questão também foi conflitual. Não ape-
nas entre os fregueses que não se queriam ver constrangidos
a ofertas usuais (muito menos, a ofertas não usuais), mas
também entre os párocos e os dizimeiros, a propósito da ga-
rantia de uma côngrua paroquial mínima ou da pretensão
dos dizimeiros de se apropriarem também do rendimento
das oblatas. Assim, em relação às igrejas e capelas que fos-
sem comendas das ordens militares, o Papa Paulo IV obri-
gou, em 1555, os dizimeiros a garantirem aos párocos uma
côngrua de 100 cruzados, sempre que este não os obtivesse
pelas oblatas da Igreja (Lobão, 1819, p. 121). E a resolução
régia de 18.7.1560 ratificou uma composição entre a Ordem
de Cristo e párocos das suas novas comendas, reservando
para estes últimos as oblatas usuais (“ofertas de mão beija-
da”, de outras ofertas por ocasião do ofertório da Missa, da
administração dos sacramentos e da encomendação dos fi-
nados) (Lobão, 1819, p. 123; Figueiredo, 1790, II, 73).
Indirectamente, a questão também interessava à coroa. Por
um lado, porque ao rei incumbia a régia protecção dos seus
vassalos contra as exacções da Igreja; depois porque, em certos
casos, as ofertas eclesiásticas eram conflituais com interesses
específicos cuja tutela competia à coroa345 ; finalmente, por-
345 É O caso das ofertas funerárias, que prejudicavam quer os órfãos (cujos
interesses eram tutelados pela coroa, através dos juízes dos órfãos e provedo-
res), quer os cativos (que beneficiavam tanto de deixas expressas como
232
livro_antonio_m_espanha.p65 232 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
que a fiscalidade da coroa era conflitual com a fiscalidade
real (nomeadamente, com as décimas). Além de que, tal como
a carga fiscal senhorial, era mal vista pelo pensamento
fisiocrático, dominante nos finais do século XVIII e hostil a
todos os ónus sobre a agricultura(48).
A panóplia das oblatas era muito vasta, dependendo
dos usos locais. As mais importantes eram as ofertas funerá-
rias, umas relacionadas com os ofícios fúnebres e funeral,
outras com missas de sufrágio e aniversários. À primeira ca-
tegoria pertencia a lutuosa, direito do pároco à melhor peça
de roupa ou vaso de metal precioso, à sua escolha, por morte
de um paroquiano346 . E ainda a porção canónica ou funerária
(canonica portio), correspondente às despesas funerárias (com
velas, paramentos e adornos, jantares dos oficiantes e coadju-
tores)(49) (50), paga em jantares ou vitualhas, cera, lâmpa-
das, vinho, hóstias, lenha, pão, milho, carneiros, etc. À se-
gunda categoria pertenciam as dádivas para missas de su-
frágio e para aniversários.
Das oblatas faziam ainda parte as deixas para obras
pias, recolhidas nas arcas paroquiais “das pias”. Também aqui
se verificou uma evolução (que encontramos concluída na
Idade Moderna) no sentido de transformar as ofertas em obri-
gações dos fiéis e de as fixar numa quota da herança. Assim,
no século XVI, estava estabelecido o uso de distribuir em obras
de heranças para que não houvesse herdeiros [“resíduos”] e cujos interesses
eram defendidos pelos mamposteiros dos cativos).
346 Barbosa, 1623, I, cap. 24, n. 32.
233
livro_antonio_m_espanha.p65 233 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
pias as terças dos que faleciam sem testamento, uso a que foi
posto termo por um assento de 1567 (Lobão, 1819, 124).
Além destas, muitas outras ofertas existiam (usuais, ca-
suais dos párocos), algumas delas residuais dos antigos
dízimos pessoais, abolidos ainda na Idade Média, outras pura
e simplesmente fundadas nos costumes diocesanos ou paro-
quiais. Era o caso, entre outras, dos mortuarios matrimónios,
conhecenças, as aleluias, loas de Natal, ofertas de Sexta Feira San-
ta, do dia dos fiéis, etc. (Lobão, 1819, p. 154).
d) Abades
Um último ofício eclesiástico é o de abade, superior de
uma comunidade de monges.
A palavra “abade” significa pai, o que logo nos remete
para o imaginário político que estruturava as relações dentro
destas comunidades – o da família347 . De facto, embora os aba-
des disponham de poderes jurisdicionais sobre os seus mon-
ges(51), as relações entre uns e outros, bem como o estatuto
destes últimos em relação à casa, adequa-se perfeitamente ao
modelo das relações intrafamiliares. Assim, os prelados e su-
periores dos regulares têm sobre eles toda a jurisdição espiritu-
al e temporal, aplicando-lhes penas espirituais (excomunhão
e outras privações), temporais (jejum, abstinência, prisão), “ha-
vendo-se como pais” (Carneiro, 1851, I, p. 299). Isto é ainda
mais nítido nas comunidades femininas, pois aqui a abadessa
347 Do mesmo modo, o convento era também designado por “casa”. As abades-
sas eram tratadas por “mãe” (ou “madre”).
234
livro_antonio_m_espanha.p65 234 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
– sendo mulher e, logo, incapaz de deter funções de governo
político (i. e., funções jurisdicionais)só dispunha de poderes
domésticos, do mesmo tipo dos que a mãe de família dispõe
em relação às filhas e criadas(52). Mas, em geral, os monges
são como filhos do abade: devem-lhe obediência348 ; podem ser
por ele julgados sem a observância de processo (sem “figura
de juízo”); podem ser castigados e metidos em cárcere (Fragoso,
ibid., n. 5). No domínio patrimonial, esta semelhança com os
filhos-família é enorme. Na verdade, os monges, tal como os
filhos, nem têm, em princípio, património próprio, nem go-
zam de capacidade jurídica. A sua entrada na vida religiosa é
marcada por um contrato de dote – semelhante ao das filhas
que, pelo casamento, entram noutra família –, em que, além
da outorga do dote, o pai renuncia ao filho (Carneiro, 1851, I,
306 ss.). A partir da sua entrada em religão, o monge morre
para o mundo e toma-se incapaz de domínio e posse: adquire
para o convento de que se considera filho, tal como os filhos
adquirem para o pater; os seus contratos são nulos; não pode
testar; carece de capacidade sucessória passiva, mesmo ab
intestato349 . Ainda como os filhos, podem-lhe ser concedidos
pelo superior, a título precário, alguns bens (“pecúlio”, tal como
nos bens de que os filhos tinham a administração) para fins
licítos e honestos (Fragoso, 1641, II, lib. 11, disp. 24, n. 15)350 .
348 Sobre as obrigações dos regulares, v. Fragoso, 1641, II, lib. 11, disp. 24, § 9.
349 O direito comum admitia que os monges herdassem para o convento; uma lei
de 17.7.1769, de sentido desamortizador, priva, no entanto, os monges de
capacidade hereditária passiva (Carneiro, 1851, I, 315).
350 O concílio de Trento tinha proibido os pecúlios monásticos, por serem fonte de
abusos (sess. 25, cap. 39, §§ 4/5); mas a prática subsequente voltou a admiti-los.
235
livro_antonio_m_espanha.p65 235 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
A entrada em religião é um acto livre, precedida por
um noviciado (de um ano) (conc. Trento, sess. 24, caps. 15/
16) e pela tomada de votos. Os votos são o de pobreza, cas-
tidade, obediência e estabilidade na vida devota351 . O voto
de pobreza implica a renúncia à propriedade pessoal, co-
municando-se todos os bens próprios, actuais ou futuros, à
congregação, sendo administrados pelo superior da congre-
gação, auxiliado por administrados, por ecónomos ou ad-
ministradores amovíveis (cf. provis. 7.11.1790) (Carneiro,
1851, I, 292)352 . Só na sua alienação ou hipoteca devem in-
tervir os capítulos, aos quais compete, de resto, auxiliar o
superior na resolução dos negócios árduos (ibid., I, 300;
Fragoso, 1641, II, lib. 11, disp. 24, § 4/5). A castidade impli-
ca a abstenção, não apenas de todas as formas de prazer
sexual, mas ainda do matrimónio. A estabilidade na vida
devota implica a proibição, não apenas de reverter ao esta-
do laical, mas ainda de abandonar a ordem (apostasia, pu-
nida no foro eclesiástico, com cárcere).
2.8 Orientação bibliográfica
Dado o estado actual da historiografia sobre as insti-
tuições eclesiásticas em Portugal (cf., em todo o caso, as in-
351 Para alguns monges existe um quarto voto: de defesa da religião com armas
(ordens militares), de redenção dos cativos (ordem da Santíssima Trindade),
obediência devota ao papa (jesuítas), cf. Carneiro, 1851, I, 292.
352 As congregações, em contrapartida, podem possuir bens, com as restrições já
referidas para a aquisição de bens por entidades eclesiásticas; algumas ordens
mais rigoristas (v.g., capuchinhos) não podiam possuir quaisquer bens (cf.
conc. Trento, sess. 25, cap. 3).
236
livro_antonio_m_espanha.p65 236 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
dicações dadas em Hespanha, 1992a, p. 69), o principal tra-
balho de investigação tem que ser feito sobre as fontes. So-
bre as principais fontes para o estudo do direito canónico,’
V. supra. Lista das constituições diocesanas portuguesas em
Vasconcelos, António G. Ribeiro de, “Nota chronologica-
bibliographica das constituições diocesanas portuguesas, até
hoje impressas”, O Instituto, 58(1911) pp. 491-505. Sobre o
direito eclesiástico do reino de Portugal, v. Ord. fil., II, 1 ss.
(e os respectivos comentários de Pegas, 1669). V. ainda os
tratados de Gabriel Pereira de Castro (Castro, 1622); Luís
de Molina (Molina 1613, tract. 2, d. 29); Baptista Fragoso
(Fragoso 1641, tomo lI); Feliciano de Oliva e Sousa (Sousa,
1648). Para os finais do século XVIII, num contexto já bas-
tante diferente de entender as relações entre sacerdotium e
imperium, v. António Ribeiro dos Santos (Santos, 1770),
Pascoal de Melo Freire (Pascoal de Melo, 1789, I, 5) e Ma-
nuel Borges Carneiro (Carneiro, 1851, Liv. I, tit. 5). Já nos
finais do século passado, o livro de Carneiro, 1896 (bem
como a colecção de textos do volume de “Provas”) pode
fornecer indicações muito úteis.
Bibliografia citada
ABREU, Sebastião de, lnstitutio parochi seu speculum parochorum,
Eborae, 1700.
AMARAL, António Cardoso do, Liber utilissimus judicibus et advocatis,
Conirnbricae, 1740, 2 vols.
BARBOSA, Agostinho, De officio, et potestate episcopi tripartita descriptio,
Romae, 1623.
237
livro_antonio_m_espanha.p65 237 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
BARBOSA, Agostinho, De canonicis aliis quae inferioribus beneficiariis
Cathedralium, et collegiatorum ecclesiarum, eorumque officiis tam in choro,
quam in capitulo, Romae, 1632a.
BARBOSA, Agostinho, De officio, et potestate parochi, Romae, 1632b.
BARBOSA, Agostinho, Tractatus deforo ecclesiastico universo,
Lugduni, 1634a.
BARBOSA, Agostinho, Collectanea doctorum, qui in suis operibus varia
loca concilio Tridentini tractarunt, Lugduni, 1634b.
BARBOSA, Manuel, Remissiones doctorum ... in l. 1, 2 & 3
OrdinationumRegiarum, Ulysipone 1618.
BERNHARD, Jean, et alii, L’ époque de la Réforme et du Concile de Trente,
Paris, Cujas, 1990.
BETHENCOURT, Francisco, O Imaginário da Magia. Feiticeiros,
Saludadores e Nigromantes no século XVI, Lisboa, Univ. Aberta, 1987.
BETHENCOURT, Francisco, “As artes da confissão. Em tomo de ma-
nuais de confessores do séc. XVI em Portugal”, in Humanística e Teolo-
gia (II) 1990, pp. 47-80.
CABEDO, Jorge de, De patronatibus ecclesiarum regiae coronae Lusitaniae,
Ulyssipone, 1603.
CAETANO, Marcello, “Recepção e execução dos decretos do Concílio
de Trento em Portugal”, Bol. Fac. Dir. Lisboa (19), 1965.
CARNEIRO, Manuel Borges, Direito Civil de Portugal, Lisboa, 1851
(2.a ed. aumentada).
CARNEIRO, Bemardino, Elementos de direito ecclesiastico portuguez,
Coimbra 1896 (2.ª ed.).
CARVALHO, Joaquim de, As visitas pastorais e a sociedade de Antigo
Regime. Notas para o estudo de um mecanismo de normalização social,
Coimbra, polic., 1985a.
CARVALHO, Joaquim de, e PAIVA, J. P., “Repertório das visitas pas-
torais da diocese de Coimbra, sécs. XVII, XVIII e XIX”, Bol. Arq. Univ.
Coimbra (VII), 1985b.
238
livro_antonio_m_espanha.p65 238 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
* CARVALHO, Joaquim de, e PAIVA, J. P. Matos, “A diocese de Coimbra
no século XVIII. População, oragos, padroados e títulos dos párocos”,
in Rev. Hist. Ideias, 11 (1989a), pp. 175-268.
CARVALHO, Joaquim de, e PAIVA, J. P., “A evolução das visitas pas-
torais na diocese de Coimbra nos séculos. XVII e XVIII”, in Ler História
(15) 1989b, pp. 29-41.
CARVALHO, Joaquim de, “Les visites pastorales dans la diocese de
Coimbre aux XVIe et XVIIe siecles – recherches en cours”, in La recherche
en histoire au Portugal (1), 1989c, pp. 49-55.
CARVALHO, Joaquim de, “A jurisdição episcopal sobre leigos em
matéria de pecados púlicos: as visitas pastorais e o comportamento
moral das populações portuguesas de Antigo Regime”, in Rev. Porto
Hist. (25), 1990, pp. 121-163.
CASTRO, Gabriel Pereira de, Tractatus de manu regia, Ulysipone, 1622-
1625, 2 vols.
* FARIA, Ana Mouta, “Função da carreira eclesiástica na organização
do tecido social do Antigo Regime”, in Ler História (11),1987, pp. 29-46.
FRAGOSO, Baptista, Regimen reipublicae christianae, Collonia
Allobrogum, 1641-1652,3 vols.
GENET, J.-Ph. (coord.), État moderne: génese; bilan et perspectives, Paris,
CNRS, 1990.
GILISSEN, John, Introdução histórica ao direito, Lisboa, Gulbenkian, 1988.
HESPANHA, António Manuel, Poder e Instituições no Antigo Regime.
Guia de Estudo, Lisboa, Cosmos, 1992.
HESPANHA, António Manuel (org.), Lei e Justiça. História e Prospectiva
de Um Paradigma, Lisboa, Gulbenkian, 1993.
HESPANHA, António Manuel, As Vésperas do Leviathan. Instituições e
Poder Político, Portugal- século XVII, Coimbra, Almedina, 1994.
LEÃO, Duarte Nunes de, Leis extravagantes collegidas e relatadas por [...],
Lisboa, 1569 (ed. Univ. Coimbra, Coimbra, 1796).
LOBÃO, Manuel de Almeida e Sousa, (Terceira) Conferência sobre as
oblatas e a expontaneidade dos seus offerentes, Lisboa, 1805.
239
livro_antonio_m_espanha.p65 239 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
LOBÃO, Manuel de Almeida e Sousa, Dissertações sobre os dízimos
ecclesiásticos e oblações pias, Lisboa, 1819.
LOBÃO, Manuel de Almeida e Sousa, Tratado pratico compendiario das
pensões ecclesiasticas, Lisboa, 1825.
MARQUES, João Francisco, A parenética portuguesa e a Restauração. 1640-
1668, Lisboa, INIC, 1989, 2 vols.
MELO (Freire), José Pascoal, Institutiones iuris civilis (e criminalis) lusitani,
Ulysipone, 1789,4 vols. (civilis), 1 vol. (criminalis).
MOLINA, Luís de, Tractatus de iustitia et de iure, Cuenca, 1593-1600.
OSÓRIO, Bento Camoso, Praxis de patronatu regio, & saeculari,
U1yssipone, 1726.
PAIVA, Práticas e Crenças Mágicas. O Medo e a Necessidade dos Mágicos
na Diocese de Coimbra (1650-1740), Coimbra, Minerva Histórica, 1992.
PEGAS, Manuel Álvares, Commentaria ad Ordinationes Regni
Portugalliae, U1yssipone, 1669-1703, 12 tomos + 2.
PEREIRA, Isaías da Rosa, “As visitas paroquiais como fonte históri-
ca”, in Rev. da Fac. Letras de Lisboa, 3.ª série (15), 1973.
PESCH, Otto Hermann, Tomás de Aquino. Límite y grandeza de una
teologia medieval,Barcelona, Herder, 1992 (trad. castelhana).
PRAÇA, José J. Lopes, Estudos sobre o padroado portuguez [...],
Coimbra, 1869.
PRODI, Paolo, Il soverano pontifice. Un corpo e due anime: la monarchia
papale nella prima étà moderna, Bologna, Il Mulino, 1982.
RODRIGUES, Manuel Augusto “Tendência regalistas e episcopalistas
em bibliotecas de Coimbra do séc. XVIII”, Revista de história das ideias
10 (1988), pp. 319-326.
SAMPAIO, Francisco Coelho de Sousa, Prelecções de direito patrio,
Coimbra 1793, 2 vols.
SANTOS, António Ribeiro dos, “Sobre os tributos”, BNL FG 4677,
fi. 75 ss.
SANTOS, António Ribeiro dos, De sacerdotio et imperio ..., Lisboa, 1770.
240
livro_antonio_m_espanha.p65 240 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
SERRÃO, Joaquim Veríssimo, Livro das Igrejas e Capelas do Padroado
dos reis de Portugal (1574), Paris, Gulbenkian, 1971.
SOARES, Franquelim Neiva, A arquidiocese de Braga no século XVI. Visi-
tas pastorais e livros de visitação, Porto, Fac. de Letras, dact., 1972.
SOARES, Franquelim Neiva, “A sociedade de Antigo Regime nos
inquéritos paroquiais do distrito de Braga”, in Revista theologica
(13), 1978.
SOMOZA, Salgado de, Tractatus de regia protectione, Lugduni, 1669.
SOUSA, Feliciano de Oliva e, De foro ecclesiae tractatus,
Conimbricae, 1648.
SUAREZ, Francisco, Opus de triplici virtute, fide. spe et charitate,
Mogunciae, 1622.
Bibliografia sugerida – As obras assinaladas com *.
Notas
(1) Tudo isto se relaciona, em todo o caso, com questões teológicas mais vastas,
nomeadamente, a da natureza da graça, dos sacramentos e, concretamente, do
sacramento do baptismo. Quanto a este último ponto, uma concepção
espiritualista da Igreja, “desmaterializa” o baptismo, considerando que, ao
lado do baptismo institucional (“pela água”, baptismumfluminis), existe um
baptismo espiritual que consiste apenas na pura vontade (votum baptismi) –
dirigida pela chama da graça (logo, baptismum flaminis, baptismo pela chama)
– de se abrir à salvação (d. S. Tomás, Sumo th., III, q. 68, a. 2; q. 69, a. 7; bem
como o texto de Santo Agostinho, aí citado [q. 68, a. 2, “sed contra”], falando
da possibilidade e um “sacramento invisível”). Em contrapartida, uma con-
sideração jurisdicionalista da Igreja tende a reservar o carácter sacramental
para o baptismo institucional (baptismum fluminis): “um só Deus. uma só fé. um
só baptismo; e assim, só o baptismo fluminis é Sacramento. O baptismo flaminis,
et sanguinis (i. e., pelo martírio) não são Sacramentos, chamando-se baptismos
porque substituem e fazem as vezes do Baptismo fluminis quanto ao efeito,
sempre que o sujeito não pode receber o Sacramento do Baptismo in re (i. e., em
si mesmo)” (Francisco de Larraga, Promptuario de la theologia moral, ed. cons.
Madrid, 1788, I, trat, 2, § 1, pp. 47-48); era a doutrina dominante depois de
Trento (cf. sess. 7, can. 5); cf. Compendium salmanticense [ou] universae theologiae
moralis, 00. cons. (5.ª), Pamplona, 1791, tract. 23, cap. un. Quanto aos restan-
tes sacramentos, o concílio de Trento (sess. 7, can. 10) condenou a proposição
de que qualquer fiel podia administrar os sacramentos, apesar de, segundo os
Evangelhos, Cristo ter dado a todos os homens o poder de baptizar, de admi-
241
livro_antonio_m_espanha.p65 241 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
nistrar a eucaristia e de perdoar os pecados, (Mat., 28, 19; Luc., 22, 19, João, 20,
23). Cf., v. g.. Abreu, 1700, lib. 9, sec. III, n. 19 (p. 486).
(2) Embora aqui pareça estar a pensar apenas nos que estão em fase de doutrina-
ção para receberem o baptismo formal (catecúmenos) e não ao “homo nutritus
in sylva” (selvagem) que recebeu o dom da graça independentemente de qual-
quer contacto com a Igreja institucional.
(3) Embora, em seguida, se matize um pouco, admitindo que os não baptizados
podem fazer parte de uma Igreja invisível (o que, todavia, não lhes permitiria
participar dos sacramentos); também os hereges e cismáticos seriam membros
de direito, mas não de facto, da Igreja.
(4) Entre tantos exemplos, V. Sebastião de Abreu [jesuíta, professor de teologia na
Universidade de Évora], lnstitutio parochi seu speculum parochorum, Évora, 1700.
Encontram-se estas definições no comentário ao Credo (“Creio na Igreja, una,
santa, católica e apostólica [...]”).
(5) Note-se que o próprio poder papal se ia também temporalizando. Com o
progresso da concepção jurisdicionalista da Igreja e com a consequente e pro-
gressiva contaminação da teoria da Igreja por uma teoria do Papado concebi-
do à maneira de um poder temporal, o Papa tende a conceber-se, cada vez
mais, como um soberano entre os outros, perdendo a sua dimensão ecuménica
e situando-se ao mesmo nível dos outros soberanos, no palco da política mun-
dana. V., sobre isto, o decisivo livro de P. Prodi, Il soverano pontifice. Un corpo e
due anime: la monarchia papale nellaprima étà moderna, Bologna, li Mulino, 1982.
(6) Para fazer corresponder os graus da ordem (i. e., a hierarquia da igreja militante)
à hierarquia dos anjos (i. e., da igreja triunfante: anjos, arcanjos, tronos, domina-
ções, virtudes, principados, potestades, querubins, serafins, Decreto, 11. parte, C.
23, q. 3 de poenit., dist. 2, C. 45), alguns canonistas falavam de nove graus,
juntando um superior (o episcopado) e um inferior (a prima tonsura). Outros,
pelo contrário, consideravam que o episcopado era uma dignidade e a primeira
tonsura, uma preparação para a ordem. Cf. Cardoso, 1740, V. “Ordo”, n.º 3.
(7) Decorrente de heresia, cisma ou apostasia; de condenação em crime civil que a
importasse (v. g., lesa-majestade); de descender de herege relapso; de se ter
envolvido em duelo, como duelista ou padrinho; de condenação por sedição,
libertinagem ou usura (cf. Carneiro, 1896,61 e bibl. cit.).
(8) Os casados com mulher virgem podem ordenar-se, desde que declarem publi-
camente guardar castidade e adoptem vestes religiosas; o mesmo pode fazer
quem se encontre separado da mulher por adultério desta. Em contrapartida,
não podem ser ordenados os casados por duas vezes ou os casados com
mulher que conhecida por qualquer outro homem. Cf. Amaral, 1740, S.V.
“ardo”, n.º 17. A ordenação impede a celebração do matrimónio (Extrav. Jo.
XXII,liv. VI, cap. un.).
(9) Bastava a cegueira do olho esquerdo, para evitar que o sacerdote virasse a cara
ao cálice e à hóstia durante a consagração, quando o missal está do lado
esquerdo. A perda de um dedo, salvo o polegar, não era irregularidade.
(10) Cf. CR 17.5.1612 (mandando executar um breve de Paulo V que excluía os
cristãos novos do sacramento da ordem); revogado pelas LL de 25.5.1773 e
15.12.1774 (e breve de Pio VI, de 14.7.1779).
(11) Variava com as ordens e com as dioceses (em Lisboa e Évora, por exemplo,
não se podia receber a primeira tonsura antes dos sete anos; o diaconato exigia
os 23 anos e a ordem presbiterial, os 25).
242
livro_antonio_m_espanha.p65 242 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
(12) A principal fonte para o estudo da teologia moral deste período continua a
ser a parte II da Summa theologica, de S. Tomás de Aquino (há edições moder-
nas, bilingues e traduzidas em francês, italiano e espanhol). Mas, nos séculos
XVI e XVII, produziram-se sumas que exerceram grande influência em Portu-
gal e na Espanha. Sobre as principais e sobre a teologia moral da época, v.
Melquíades Andrés (dir.), Historia de la teologia española, Madrid, Fundación
Universitaria Espafiola, 1983, 2 vols.
(13) É a doutrina tradicional (S. Tomás, Summa theol., IIa.IIae, qu. 99, art. 3),
reafirmada pelo concílio de Trento (sess. 25, c. 20); sobre o tema, Fragoso, 1641,
pt. I, lb. II, dp. 4, epit., n. 264 ss.
(14) Sobre esta última questão, v. Fragoso, 1641, pt. I, lb. 1, dp. 2, § 4, ns. 191 ss.
Gudeus), 225 ss. (pagãos); também, Serafim de Freitas, De iusto imperio
lusitanorum asiatico, 1625 (ed. bilingue, Lisboa, I.N.I.C., 1983).
(15) Desde o português Álvaro Pais no seu De planctu Ecclesiae, até alguns dos
teólogos juristas da Segunda Escolástica (Gabriel Vasquez de Menchaca,
Torquemada), passando pelos grandes canonistas italianos dos sécs. XII e XIII
(Cardeal-Hostiense, Abade Panormitano, João de Andrea). Uma das fontes
jurídicas invocadas era o cânone Grandi non immerito (Liber sextum, I, 8,2),
relativo à deposição de D. Afonso III.
(16) O Gen. falava da criação de dois luzeiros no céu, donde Inocêncio III derivara
a ideia de dois poderes (“Deus fez dois grandes luzeiros, ou seja, instituiu
duas dignidades, quais são a autoridade pontifícia e o poder real”, cit. Fragoso,
1641, Pt. 11, Ib. 1, dp. 1, § 12, n. 283); os Evangelistas insistiam na ideia de que
“o Filho de Deus não veio ao mundo para julgar o mundo, mas para o salvar”
(João, 3; Luc., 7).
(17) Assim, o príncipe cristão está obrigado a impedir a divulgação de doutrinas
que possam perturbar a fé dos fiéis, ou de confissões e práticas religiosas que,
pela sua perfídia ou aberração, escandalizem ou corrompam os costumes.
Escrevendo nos finais do séc. XVI, Baptista Fragoso – que, assume uma posi-
ção tolerante para com os judeus (Fragoso, 1641, Pt. I, lb. 1, dp. 2, § 4, n. 191
ss.) – afirma que “os impérios e os reinos são corroídos se as pessoas públicas
por temeridade ou audácia chegarem a pensar que para a conservação da
República e consecução da paz pública nada se deve acautelar no domínio da
religião, antes se devendo permitir que cada um viva como quiser e siga o que
entender mais conveniente em matéria religiosa [...] O qual erro, como muito
pernicioso, deve ser erradicado completamente e por nenhumas razões permi-
tido ao magistrado [...]” (/bid., n. 213); o que levava ao ideal expresso numa
inscrição que teria visto em Paris, “unus Deus, una fides, unus Rex, una lex”.
(18) Em Portugal e em Espanha existem, pelo menos a partir do séc. XVII, fortes
correntes “regalistas”, defendendo as prerrogativas do monarca em relação à
Igreja. Para além de tirarem partido de argumentos doutrinais como os referi-
dos no texto, apoiam-se nos dados do direito nacional, estabelecido em
concordatas sobretudo dos sécs. XV e XVI pelas quais os reis peninsulares
teriam adquiridos direitos e isenções particulares em relação ao direito canónico
comum (cf., para Portugal, o tratado sobre o poder real, de Gabriel Pereira de
Castro [n. 1571; Castro, 1622]). Com o pensamento político ilurninista (cf.
supra, 2.1), a isenção do poder temporal é fundada em argumentos doutrinais
novos (cf. Santos, 1770; Pascoal de Melo, 1789, I, 5).
243
livro_antonio_m_espanha.p65 243 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
(19) A edição oficial conjunta do C.J. Cano é de 1582. Manteve-se em vigor até 1917,
embora actualizado pelos novos cânones e decretais (jus novissimum). Sobre a
sistematização interna de cada uma das suas partes, V. Gilissen, 1988, 147.
(20) É só com a lei “da Boa Razão” (de 18.8.1769) que o direito canónico se
deixará de aplicar no foro civil. Mas a disciplina eclesiástica sobre certas maté-
rias, que hoje nos parecem como essencialmente seculares, como o casamento
ou o registo pessoal, manteve-se até muito mais tarde. O registo civil só é
definitivamente estabelecido com o Código Civil de 1867, enquanto que os
casamentos celebrados canonicamente só deixarão de ser regulados, mesmo à
face do direito secular, pelo direito canónico em 1975.
(21) Cf. Ord. fil., II, 1: eclesiásticos sem superior no reino (Ord. fil., II, 1, pr.,
magistrado competente Corregedor dos feitos cíveis), eclesiásticos que residis-
sem na corte (Ord. fil., II,1,4:idem), membros das ordens menores (Ord. fil.,
II,1,4; II, 1,27: competência das justiças ordinárias laicas), questões sobre bens
da coroa ou “reguengos” (património fiscal do rei) (Ord. fil., II,1,17 ss.: compe-
tência das justiças especializadas nestas matérias); outros casos: Ord.fil., II,1,1;
II,1,5; II,1,20. No domínio criminal, os eclesiásticos gozavam de uma isenção
geral, salvo para os crimes de lesa-majestade (Ord. fil., II, 1, pr.; II, 1,4/27).
Para além das fontes citadas, podem ver-se os respectivos comentários de
Pegas, 1669, e, para o período iluminista, de Melo Freire, 1789, I, 5, 23 ss.
(22) Em que o vigário-geral apenas recebia as denúncias, remetendo-as ao Tribu-
nal do Santo Ofício, cuja competência nestas matérias era exclusiva.
(23) Se o fosse, a competência era da justiça secular: Ord. fil., II, 1, 5 ss.
(24) Que obriga a observar o processo canónico devido (cf. Pegas 1669, t. 8, p. 142,
com bibl.; Manuel Mendes de Castro, Practica Lusitana, 1619 I, n. 294 e 2 p., c. 34
per totum); a origem do preceito das Ord. fil. era uma concórdia de D. Sebastião,
visando evitar o “costume de darem na estação aos domingos a pena, e admoes-
taçam publica somente pelas testemunhas da Visitaçam, infamando os
Vassalos, que clamavam” (cap. 13, apud Pegas, ib., 143 n. 12). Sobre o tema v.,
agora, Carvalho 1990.
(25) As causae mixti fori compreendiam: questões sobre obras pias (Ord.fil., 1,62,39-
40-42), sobre capelas ou associações religiosas (Ord. fil., I, 62,39), sobre casos
de concubinato (Ord. fil., II,1,13; II, 9), sobre delitos mixti fori (lenocínio, inces-
to, envenenamento, blasfémia, usura – Ord. fil., II,9), sobre testanientos. A
competência dos tribunais laicos eclesiásticos era concorrente: a partilha fazia-
se segundo as regras da preventio ou da alternativa. Os casos mixti fori foram
abolidos pelo decreto n.o 24, de 16.5.1832. Para além das fontes citadas, v. os
respectivos comentários em Pegas 1669.
(26) Os cavaleiros de Malta, por sua vez, seguiam a regra geral dos eclesiásticos,
gozando de uma isenção geral em” matéria cível e crime (Leis de
18.9.1602,6.12.1612, art. 6). Cf. Manuel Mendes de Castro, Pratica Lusitana,
1619, I, p. 24, n. 10; Melo Freire 1789, IV, t. 3, par. 54.
(27) Vale a pena transcrever uns passos: “ [...] quando em seus reinos, e senhorios
alguns clérigos de ordens menores, ou sacras, ou beneficiados, comendadores
e outros religiosos, e pessoas de jurisdição eclesiástica, fossem culpados em
malefícios, e julgados pelo eclesiástico, e não fossem punidos, como por direi-
to, e justiça deverião ser, e o dito Senhor soubesse em certo, elle não como juiz,
mas como seu rei, e senhor, por os castigar, e evitar que tais malefícios se não
cometessem, os lançaria de seus moradores, e tiraria as terras, e jurisdições,
244
livro_antonio_m_espanha.p65 244 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
castelos, ofícios [...], que dele, ou de seus antecessores de graça, ou enquanto
fosse sua mercê tivessem [...]. E isto não por via de jurisdição, nem de juizo,
mas por usar bem de suas cousas, e afastar de si os malfeitores, e que não
houvessem dele sustentação, nem mercês [ou]”.
(28) Sobre o padroado v. os respectivos artigos do Dicionário de História de Portugal,
Porto, Iniciativas Editoriais, 1961 e Dicionário /lustrado de História de Portugal,
1985, bem como as indicações contidas em Faria 1987, Carvalho 1989a. Litera-
tura mais antiga, Cabedo 1603; Melo Freire, 1789, 1,5,19; Carneiro, 1896, 217; e
Praça 1869. Lista das capelas e igrejas do padroado em Serrão 1971. Lista dos
padroados da Ordem de Cristo (“as cinquenta comendas do Padroado”), em
Cabedo, 1602, c. 18, n. 1. Formalidades e fórmulas de apresentação, Cabedo,
1602, cap. 19. Sentenças sobre casos de apresentação de beneficiados pelos
reitores das Igrejas do padroado real, Pegas, 1669, XIII, p. 67 ss.
(29) Falava-se também de pensão ou porção a respeito de uma prestação periódica
imposta sobre o rendimento de certo benefício pelo titular da sua colação (i. e.,
por aquele a quem compete prover esse benefício) a favor de uma pessoa
eclesiástica ou leiga (cf. Lobão, 1825, § 21 ss.). As pensões podiam ser impos-
tas pelo Papa, pelos bispos, pelos grão-mestres das ordens militares e pelos
reis (como grão-mestres ou padroeiros).
(30) Sobre o padroado, fontes de direito canónico clássico, Decreto, lI, c. 16, q. 7;
Decretais, Ib. 6; Trento, sess. 24 e 25. Literatura portuguesa: Cabedo, 1602; Osório,
1736. Depois de ter sido objecto de discussões nas Cortes vintistas, os padroados
(salvo o da Coroa) foram abolidos pelo dec. de 5.8.1833, reservando ao governo
a apresentação dos benefícios eclesiásticos (cf. Carneiro, 1896,236).
(31) A colação de benefício sem a apresentação do patrono é anulável, Cabedo,
1603, c. 1, n. 3 ss. No caso de o direito de apresentação não ser exercido no
prazo de quatro meses (padroados leigos) ou de seis meses (padroados eclesi-
ásticos) a contar da vacatura do benefício, o direito caduca para o Ordinário
(ibid., n. 9; Pegas, 1669, XI, p. 176, n. 6).
(32) A apresentação é do patrono se o benefício vagar nos meses de Março, Junho,
Setembro e Dezembro; nos restantes é da Santa Sé (Conc. Trento, sess. 24, cap.
18; Somoza, 1669, pt. 3, c. 9, n. 99). Além disso, em qualquer dos casos, o
provimento deve ser feito, no caso do padroado eclesiástico, por concurso (Ibid.).
(33) Exceptuavam-se, porém, os territórios nullius diocesis, dependentes directamente
da Santa Sé, como são, em Portugal, as prelazias quasi episcopais (Santa Cruz de
Coimbra [ab séc. XII], Santa Maria de Guimarães [ab. séc. XV], priorado do
Crato [ab 1443], priorado de Tomar [ab 1554], capela real de Vila Viçosa [ab
1581], as prelazias de Moçambique [ab 1612], Pernambuco [ab 1612], Cuiabás
e Goiás [ab 1745]) e algumas igrejas e. capelas privilegiadas (v. g., capela real,
casa real de Santo António, Igreja das Chagas de Lisboa, capela da Universida-
de de Coimbra. Cf. Carneiro, 1896, 152, 157.
(34) Em Portugal, a coroa recebia parte das rendas do primeiro ano dos benefícios
vagos (ano do morto); cf. CR. 9.3.1801 (João Pedro Ribeiro, Ind. chron., 11, 228);
alv. 3.7.1806.
(35) Cf. Carneiro 1896, 404-406. As Relações tinham também competência de
primeira instância nos litígios da diocese metropolitana, naqueles em que uma
das partes era um bispo ou nas causas que se arrastassem por mais de dois
anos nos tribunais das dioceses sufragâneas (Ibid., 404).
245
livro_antonio_m_espanha.p65 245 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
(36) V. lista das congregações de cónegos regulares em Barbosa, 1632, c. I, n. 25 ss.
Já os cónegos regulares de Santo Agostinho tinham uma regra mais permissi-
va: podiam possuir em admínistração os bens necessários ao seu sustento e a
obras pias, embora esta posse fosse precária, pelo que lhes podiam ser a todo
o tempo retirados pelo superior (v. Ibid., n. 19).
(37) Conezia (canonia) é o direito a lugar no coro e capítulo, tendo, em princípio,
anexo o direito a receber prebendas e porções diárias (sobre estas, Barbosa,
1623, c. 21). Prebenda (ou porção), por sua vez, é o direito a receber certos
proventos das rendas da igreja de que se é prebendário (ou porcionário), tendo
em vista o sustento próprio. Em sentido genérico, prebenda equivale a qual-
quer direito a receber rendas da Igreja em razão de um ofício eclesiástico. Em
sentido próprio, significa o rendimento anexo a uma conezia. A palavra aplica-
se ainda à percepção de rendas da Igreja; independente do exercício de qual-
quer ofício eclesiástico, em retribuição de uma função meramente temporal;
neste sentido, podem ser concedidas a leigos e por estes livremente vendidas,
sem perigo de simonia (Barbosa, 1623, c. 12).
(38) Os párocos tinham que manter livros de registo dos baptizados, dos casa-
mentos e dos óbitos (Conc. Trento, sess. 24, cans. 1 e 2; dados que deviam
constar e fórmulas, Barbosa, 1632a, I, cap. 7, ns. 1-10), além do registo das
confirmações (ou crismas) (Ibid., n. 16); podiam ainda organizar outros registos
atinentes à vida da paróquia.
(39) Símbolo dos apóstolos [Credo], dez mandamentos, padre-nosso, artigos da fé
sobre o baptismo, a eucaristia e a penitência (Conc. Trento, sess. 24, c. 4 e sess.
5, cap. 2; Abreu, 1700, lib. 2, caps. 4 e 5 e lib. 5).
(40) A paróquia pode consistir, v.g., em certas famílias ou numa comunidade.
Sempre que o âmbito dos fregueses seja uma comunidade definida em razão
da natureza das pessoas (e não do território), o pároco toma a designação de
capelão (é o que acontece com os encarregados de, v. g., monges, da corte, de
militares, etc.).
(41) Na linguagem vulgar, “cura” designa, em algumas zonas, o pároco. Noutras,
é designado por abade ou prior. Originariamente, o abade era o superior ou
prelado de certas congregações religiosas regulares “S. Bento, S. Bernardo, S.
Basílio). E o prior era, em geral, a pessoa eclesiástica dotada de preemínência.
O termo era usado: (i) para designar uma dignidade do cabido; (ii) o primeiro
prelado de certas comunidades monásticas (v. g., conventos dominicanos,
agostinhos, carmelitas, jerónimos); (iii) noutras comunidades (beneditinos,
monges de S. Bernardo), o segundo prelado, depois do abade, frequentemente
encarregado da direcção de uma comunidade subordinada à casa principal ou
abadia); (iv) o superior das ordens militares ou de ordens militares).
(42) O pároco era, portanto, apenas o seu admínistrador ordinário, devendo afectá-
las, salvo intenção em contrário do ofertante (v. g., para os cativos, para um
oratório, confraria ou capela), às despesas inerentes à cura de almas (cf. Lobão,
1819, p. 164 ss.).
(43) Só eram obrigatórias no plano do direito (canónico): (i) quando se deviam a
título de censo ou de outro contrato; (ii) quando se deviam por testamento ou
legado; (iii) quando os mínistros da Igreja carecessem de côngruo sustento,
caso em que os paroquianos podem ser compelidos sob pena de excomunhão;
(iv) quando estivessem introduzidos por costume de, pelo menos, dez anos
(Barbosa, 1623, I, cap. 24, n. 23 ss.).
246
livro_antonio_m_espanha.p65 246 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
(44) Note-se, porém, que estas aquisições estavam interditas pelas Ordenações
(Ord. fil., II, 18), que proibiam qualquer aquisição de bens por contrato e
obrigavam a Igreja e pessoas eclesiásticas a vender no prazo de ano e dia os
bens adquiridos por qualquer outro título (cf. Sampaio, III, 18, p. 64 ss.).
Esta norma foi, porém, pouco praticada; daí a reacção que suscitou a amea-
ça de a executar à risca, feita, como medida de chantagem sobre a Igreja,
durante o valimento de Olivares. Era, por exemplo, frequente que a Igreja
recebesse bens em domínio pleno e apenas alienasse, por meio de contratos de
enfiteuse, o domínio útil, mantendo, portanto, as rendas. Note-se ainda como
a aplicação desta lei, que obrigava à venda dos bens de raiz adquiridos e
proibia a aquisição de outros bens imóveis com o produto da venda, produ-
ziria enormes quantidades de dinheiro líquido nas mãos das entidades ecle-
siásticas; o que explica a sua propensão, quer para despesas sumptuárias ou
de consumo (também caritativas), quer para a colocação do dinheiro em
padrões de juro (embora a distinção, para este efeito, entre juros e outras
rendas periódicas, fosse pouco nítida na doutrina; decisivo era o critério da
ligação da renda a algum bem imóvel).
(45) Pelo rigor do direito, eram devidas mesmo de actividades ilícitas e torpes, como
o meretrício ou as comédias, embora não estivesse em uso cobrá-las. Já os lucros
usurários, eram sujeitos a décima (Barbosa, 1623, I, cap. 28, § 1,31-33).
(46) Decretais, m, 30, 7; 22; 26; 28. Discutindo a questão, Barbosa, 1623, ibid., ns.
35-37;-Lobão, 1819,32 ss. O princípio da tributação do rendimento líquido é
adoptado, em Portugal, pelas décimas civis, quando adoptadas; nos finais do
Antigo Regime, há quem pretende estendê-lo aos tributos forais e mesmo aos
cânones enfitêuticos e censíticos (cf., supra, 2.3).
(47) Era o caso dos cistercienses, templários e hospitalários, dominicanos,
franciscanos, cartuxos, clarissas, etc., quanto às terras que cultivassem pelas
próprias mãos (mas já não pelas que dessem de colonia) (Barbosa, 1623, I, cap.
28, § 2, n. 18 s.
(48) Nos finais do século XVIII, verifica-se um movimento de paróquias das
dioceses de Braga e Porto no sentido de os fiéis não poderem ser constrangidos
a pagar as oblatas. A questão chega à Rainha que, num decreto em que aflora
claramente uma política de protecção dos paroquianos contra as exacções
eclesiásticas, manda que se faça silêncio sobre a questão, enquanto não se
tomassem medidas definitivas, cujo estudo encomenda ao Arcebispo de Braga
(dec. 30.7.1790, Lobão, 1819, 129.
(49) Segundo Lobão (Lobão, 1819, 124), uma lei de 1515 fixou a funerária numa
certa quota da terça (ou quota disponível, de que o de cujus pode livremente
dispor), lei que teria sido revogada em 1640, tendo subsistido os costumes
locais sobre os ofícios devidos e o seu custo, consoante a natureza do falecido.
O poder temporal tenta restringir as exacções eclesiásticas. Uma provisão de
1712, dirigida aos provedores, proibiu que se forçassem os herdeiros a pagar
sufrágios e obras pias não estabelecidas pelos defuntos. E uma lei de 25.6.1766,
fixa as despesas com sufrágios e funerárias numa quantia “racionáveis, e
conforme ao direito” (Lobão, 1819, 126 ss.).
(50) Das despesas funerárias, uma parte era obrigatoriamente para o pároco, a
título de retribuição do seu trabalho: era a “quarta funerária”, por se ter fixado
o seu montante numa quota parte das despesas funerárias e em obras pias
(Barbosa, 1623, c. 25).
247
livro_antonio_m_espanha.p65 247 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
(51) A sua jurisdição sobre os monges é semelhante à dos bispos nas respectivas
dioceses (Fragoso, 1641, II, lib. 11, disp. 24, n. 1).
(52) É a lição de S. Tomás: “foemina non potest habere aliquam jurisdictionem
spiritualem [...] non habent clavem ordinis, aut jurisdictionis”; (as mulheres
não podem ter qualquer jurisdição espiritual [...] pois não têm a chave da
ordem ou da jurisdição); no mesmo sentido, diz Baptista Fragoso que a aba-
dessa só tem o governo doméstico e que monjas que lhe desobedeçam pecam
da mesmo forma que as filhas. Por carecerem de jurisdição, as abadessas não
podiam benzer nem pregar. Todavia, os bispos ou provinciais podem cometer
às abadessas, em caso de urgente necessidade, poderes de impor preceitos sob
penas espirituais (Fragoso, 1641, II, lib. 11, disp. 24, § 6, n. 9).
248
livro_antonio_m_espanha.p65 248 11/11/2005, 03:02
3. AS COMUNIDADES
Objectivos da aprendizagem
Quando terminar esta unidade, o aluno deve ser capaz de:
• Definir os fundamentos doutrinais e jurídicos da au-
tonomia política das comunidades locais (concelhos);
• Identificar os principais cargos concelhios e as suas
atribuições;
• Avaliar o equilíbrio entre o poder da coroa e os
poderes comunitários, nomeadamente quanto à
capacidade normativa, ao controlo dos oficiais lo-
cais e à autonomia financeira.
3.1 Os fundamentos doutrinais da autonomia de gover-
no das comunidades territoriais
A questão das relações entre o espaço e o poder fora
objecto de reflexão desde a Antiguidade. Aristóteles tinha
relacionado o carácter dos homens com os dados geográfi-
cos e climáticos. E, na Política, existem também algumas su-
gestões sobre esta interdependência entre as características
do meio físico e o sistema constitucional das cidades. Na Ida-
de Média, por sua vez, imaginou-se uma relação íntima en-
tre os vínculos da natureza e os vínculos políticos. E, por
livro_antonio_m_espanha.p65 249 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
natureza, entendia-se não apenas os laços familiares, mas
também os laços que ligavam alguém ao torrão que o vira
nascer, à sua “pátria”. Isto explica a naturalidade com que
era aceite a ideia de que um grupo vivendo conjuntamente
tivesse um governo próprio e autónomo, que incluiria a
capacidade de estabelecer as suas próprias leis. “Os po-
vos – tinha escrito Baldo353 – existem por direito das gentes
[= direito natural], pelo que o governo dos povos é de direito
natural; mas este governo não pode existir sem leis nem es-
tatutos. Portanto, pelo mesmo facto de que os povos exis-
tem, têm os povos em si mesmos a capacidade de governo,
tal como qualquer animal se rege pelo seu espírito e alma”.
Baldo tomava, aqui, “povo” no sentido geral de comunidade
territorial, mesmo de âmbito menor do que o reino. Daqui
decorria que esta capacidade de se governar a si mesmo
(iurisdictio) e de editar as suas normas jurídicas próprias (iura
propria, direitos próprios; statuta, estatutos) era geralmente
atribuída a qualquer comunidade humana com identidade
territorial própria, desde a aldeia ao reino (aldeia(l), cidades(2),
comarca(3), provincia(4)). No espaço de um reino, esta gene-
rosa atribuição de prerrogativas políticas colocava a questão
de compatibilizar a jurisdição dos corpos territoriais inferio-
res com a jurisdição real.
Francisco Suarez (n. 1548), um dos mais destacados
juristas-teólogos da Segunda Escolástica, autor de um im-
353 Citado por F. Calasso, Medioevo dei diritto, Torino, UTET, 501.
250
livro_antonio_m_espanha.p65 250 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
portantíssimo tratado sobre as leis (De legibus ac Deo legislato,
Coimbra, 1612), fá-lo distinguindo dois tipos de comunida-
des, as perfeitas, que se bastam a si mesmas354 , e as imperfei-
tas, que necessitam do concurso de outras para o desempe-
nho das suas funções sociais. Só as primeiras disporiam de
um poder legislativo ilimitado (pleno). Quanto às segundas,
o princípio geral era o de que todas as comunidades territo-
riais “cidades” teriam capacidade de legislar (i. e, de editar
estatutos), desde que proporcionada ao âmbito da sua juris-
dição (ou seja, relativamente aos seus vizinhos, às coisas si-
tuadas no seu território, aos actos aí praticados, aos crimes
aí cometidos) e respeitasse as competências legislativas re-
servadas ao príncipe 355 . De qualquer modo, prossegue
Suarez – agora em polémica com a anterior posição de Baldo
no sentido da existência de uma jurisdição natural em todos
as comunidades territoriais –, os estatutos das cidades que
tenham reconhecido um superior e para ele tenham trespas-
sado o seu poder político originário necessitam de aprova-
ção do príncipe; aprovação que pode ser conferida caso a
caso, por lei geral ou pelo uso e costume longamente prati-
cados. Como se vê, Suarez, contemporâneo das grandes mo-
narquias da Época Moderna, não pode já aceitar uma dou-
trina tão generosamente pluralista e descentralizadora como
a de Baldo; daí que exclua dos poderes de estatuição das
354 E a que corresponderiam os reinos e aquelas cidades (como as repúblicas de
Veneza, de Génova, etc.) que não reconheciam superior (qui superiorem non
recognoscunt).
355 Suarez, 1612, III, c. 9, n. 17.
251
livro_antonio_m_espanha.p65 251 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
comunidades as matérias reservadas ao príncipe (regalia).
Mas, sobretudo, que exija o acordo deste para conferir vali-
dade aos estatutos locais. Em todo o caso, como se contenta
com um acordo tácito, indiciado por um uso longo e
inveterado dos estatutos sem oposição do príncipe, isto equi-
vale a admitir que este tem que respeitar o direito longamente
usado nas comunidades locais, ou seja, a sua organização,
os seus costumes, os seus estatutos356 -357 .
3.2 Posturas, costumes locais e lei
Em Portugal, todas estas questões foram tratadas pelos
juristas. Porque, apesar de não se conhecerem, aqui, preten-
sões de autonomia absoluta das cidades (dos concelhos) em
relação à coroa, o que é certo é que não eram raros os confli-
tos em tomo das prerrogativas da coroa e dos seus magistra-
dos (nomeadamente, dos corregedores) quanto aos ordena-
mentos jurídicos locais (posturas, costumes).
Quanto à capacidade estatutária das cidades, a ques-
tão estava resolvida nas próprias Ordenações. Na verdade, o
tit. I, 66, pr., dispunha que competia aos vereadores (à câ-
mara) ter o “carrego de todo o regimento da terra [...], por-
que a terra e os moradores dela possam bem viver”, especifi-
cando depois (§28 ss.) que “proverão as posturas, vereações
e costumes antigos da cidade, ou villa; e as que virem são
356 As mesmas restrições se notam quanto à questão de saber se o direito ou os
estatutos locais podem revogar a lei geral. V. Hespanha, 1994, II.A.
357 Sobre as relações entre direitos próprios e direito comum, v. supra, III.
252
livro_antonio_m_espanha.p65 252 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
boas, segundo o tempo, façam-as guardar, e as outras emen-
dar. E façam de novo as que cumprir ao prol e bom regimen-
to da terra”. Claro que se podia pôr a questão (doutrinal) de
saber se este poder estatutário era originário ou dependente
de concessão régia. Mas, fosse como fosse, ele estava estabe-
lecido na lei, impondo-se, também nos termos da lei, aos ofi-
ciais régios. De facto, as Ordenações também dispunham que
“as posturas, e vereações, que assim forem feitas [i. e., com
audição da câmara, segundo um processo estabelecido no
§28], o corregedor da comarca não lhas poderá revogar,
nem outro oficial ou desembargador nosso, antes as façam
cumprir e guardar” (§29). O rei, esse sim, poderia alterá-
las se as julgasse inconvenientes, como podia alterar a lei;
por isso se determinava que os corregedores, no caso de
depararem com algumas posturas, “prejudiciaes ao povo e
bem comum” dessem disso conta ao rei, presumindo-se que
ele escreveria à câmara insinuando a revogação delas, ou
mesmo que as revogaria ele próprio.
Apesar deste reconhecimento da capacidade estatu-
tária dos concelhos, o direito continha certas regras limita-
tivas. Por um lado, as posturas não poderiam contemplar
matérias cuja regulamentação estava reservada ao rei (rega-
lia), como a criação de monopólios (estancos) ou a imposição
de tributos gerais. Por outro lado, estando a capacidade de
autogovemo dos concelhos ordenada ao bem particular da
terra, não poderiam estes editar normas de âmbito geral. Por
fim, as posturas não poderiam ofender direitos concedidos
253
livro_antonio_m_espanha.p65 253 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
em geral, nem tomar ilícito o que, aliás, fosse lícito358 . É a
partir destas regras que se estabelece a casuística daquilo que
as câmaras podiam ou não regular por postura359 . O carácter
aparentemente humilde dos temas regulados não nos deve
iludir quanto à importância destas normas nas comunidades
locais. De facto, que há de mais decisivo para a vida de co-
munidades agrárias do que essas questões de águas, de pas-
tos, de regimentos dos mercados e das actividades económicas
de que tratam as posturas?
Gráfico 1 – p. 161 no original
358 Mas admitia-se que, obtido o acordo geral, nos termos prescritos nas Ordena-
ções (I,66,28), se estabelecessem penas e multas, se proibisse ou obrigasse à
venda, se estabelecessem regimes obrigatórios de pasto, de rega, etc. Cf.
Hespanha, 1994, II.4.
359 Cf. Pegas, 1669, ad I,66,28, c. IV; Fragoso, 1641, I, 1, 7, d. 19,§ 1.
254
livro_antonio_m_espanha.p65 254 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Uma outra questão era a de saber se as posturas podi-
am contrariar a lei geral. As Ordenações (I, 66, 29) declaram
nulas as posturas que “forem feitas, não guardada a for-
ma” nelas estabelecidas (i. e., as feridas de vício formal, quan-
to ao seu processo de feitura: v. g, não votadas em câmara).
Mas não estende o mesmo princípio às que contradigam o
disposto na lei régia. Em todo o caso, a doutrina interpreta-
va esta disposição extensivamente, extraindo daqui o prin-
cípio de que as posturas “não podiam contradizer as leis
superiores”. (Pegas, 1669, v. ad 1,66,28, c. VII, n. 2). No
entanto, a ficção de que as posturas vigoravam com o acor-
do tácito do rei, Uma vez feitas com o concurso dos juízes
locais, representantes do monarca, jogava neste caso a fa-
vor do direito local, mesmo que contrário à lei geral. De fac-
to, a postura contra o disposto na lei seria como que uma
derrogação, feita com o acordo tácito do rei, de uma norma
geral para um certo âmbito local, mantendo com o direito
do reino a mesma relação que, em termos gerais, o direito
próprio mantinha com o direito comum360 -361 .
3.3 Magistrados e oficiais
Um outro aspecto do autogoverno era constituído pela
autonomia concelhia na escolha dos magistrados e oficiais
locais, bem como pela forma autónoma e plena com que
360 Hespanha, 1994, II.4.
361 O mesmo tipo de questões se punha em relação aos costumes locais, cf.
Hespanha, 1994, II.4.
255
livro_antonio_m_espanha.p65 255 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
estes desempenhavam as suas funções. Explicar uma e
outra coisa supõe, no entanto, uma breve descrição das ma-
gistraturas, órgãos e ofícios dos concelhos. (ver gráfico)
Podemos sistematizar os oficiais locais em várias categorias.
A primeira será a dos oficiais de governo. Deles fazem
parte, desde logo, os oficiais de governo, que integram a câ-
mara concelhia.
Comecemos pelos vereadores.
De acordo com as Ordenações Filipinas (I, 66), compete,
em geral, aos vereadores “ter cargo de todo o regimento da
terra, e porque a terra, e os moradores della possão bem vi-
ver” (Ord. fil., I,66, pr.)(5). Os vereadores eram eleitos pelos
homens bons do concelho pelo sistema dos pelouros descrito
nas Ordenações362 , embora a prática se afastasse, por vezes,
do sistema legal. Basicamente, o sistema era o seguinte: seis
“eleitores”, escolhidos de entre os mais aptos pela elite local,
elaborava uma lista das pessoas “que mais pertencentes lhes
parecerem para os carregos do concelho”363 . Confrontadas
as listas e apurados os que mais votos tinham para cada
magistratura ou ofício, os seus nomes eram escritos numa
nova lista (“pauta”) e tirados à sorte364 os conjuntos de ma-
362 Ord. fil., I, 67.
363 Ou seja, para juízes, para vereadores, para procurador, para tesoureiro,
para escrivão da câmara, para juiz e escrivão dos órfãos (onde fossem feitos
por eleição) ou para quaisquer outros oficiais que costumassem ser eleitos
(Ord.fil., I, 67, pr.).
364 Pelo sistema de “pelouros”, bolinhas de cera nas quais se metia um papelinho
com o nome de um conjunto de juízes, vereadores, etc.
256
livro_antonio_m_espanha.p65 256 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
gistrados ou oficiais para o próximo triénio. Os não sortea-
dos ficavam para os triénios seguintes, até se esgotarem os
nomes constantes da “pauta” (cf. Ord. fil., I, 67). Como se vê,
este sistema garantia aos notáveis locais (meliores terrae, “gente
da governança”) a ocupação ou distribuição das magistratu-
ras por apaniguados seus. Nalgumas terras, normalmente nas
mais importantes, a escolha final parece ter passado a ser,
frequentemente, feita na corte (Desembargo do Paço), para
onde eram enviadas as pautas365 . Noutras terras vigoravam
costumes locais diferentes. Noutras, ainda, eram os senhores
que nomeavam as justiças, embora esta faculdade carecesse
de doação régia expressa.
Quer a escolha fosse local ou não, os vereadores e as
“justiças” do concelho, uma vez investidos, tinham uma área
autónoma de competência prevista na lei e garantida pelo
direito contra a usurpação. E, na legislação e jurisprudência
seiscentista e setecentista, são frequentes as determinaçães
no sentido de se respeitar a autonomia desta área jurisdicional.
Tais determinações dirigiam-se, nomeadamente, aos correge-
dores ou aos poderosos locais, assim como – por ocasião das
guerras da Restauração e da consequente tendência para a
militarização da administração, pelo menos nas zonas de
guerra – aos governadores de armas das províncias. Mas tam-
bém existem testemunhos de independência das câmaras em
365 Sobre a evolução do sistema de eleições e justiças durante os séculos XVII e
XVIII, V. Hespanha, 1994, II.4.
257
livro_antonio_m_espanha.p65 257 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
relação aos donatários, inclusivamente àqueles que as nome-
avam ou confirmavam.
Os três366 vereadores, com os juízes e, eventualmen-
te, com os mesteres, formam a câmara. Ao lado dos verea-
dores, e eleitos pelo mesmo sistema, existiam os almotacés367 ,
com competência especializada no domínio do abastecimen-
to e da regulamentação edilícia. Eleito era, ainda, o procura-
dor do concelho368 , a quem competia agir em nome deste em
juízo ou fora dele369 .
Estes ofícios concelhios são “honorários”. Ou seja, são
desempenhados por titulares eventuais (e não de carreira)
escolhidos pelas populações e, em princípio, não remunera-
dos. O interesse do desempenho dos cargos estaria, então, no
prestígio que lhes era inerente. Mas também, num plano
menos imaterial, nas possibilidades de, usando da situação
de preeminência social e política que eles garantiam, obter
vantagens económicas diversas370 .
A panóplia dos oficiais “políticos” do concelho (na
acepção do termo na Época Moderna) era completada com os
escrivães da câmara e escrivães da almotaçaria e com uma
série de funcionários subalternos. Quanto ao escrivão da câ-
366 Nas terras mais pequenas é muito comum haver apenas dois vereadores (e
um só juiz, em vez de dois).
367 Ord. fil, I, 69.
368 Ord. fil, I, 69.
369 Ord.fil., I, 70, 2.
370 Sobre os tipos de vantagens auferidas pelos magistrados camarários, v.
Hespanha, 1994, II,4.
258
livro_antonio_m_espanha.p65 258 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
mara371 , era o escrivão ordinário do concelho, encarregado de
reduzir a escrito o expediente da vereação. O escrivão da
almotaçaria, por sua vez, era o funcionário encarregado de
escrever perante os almotacés, nomeadamente em matéria de
coimas e achadas, de almotaçaria, de pesos e medidas(6).
Um outro grupo de funcionários locais era o dos ofi-
ciais de justiça.
Dele faziam parte, desde logo, os juízes, cujas funções372
ultrapassavam aquilo que hoje se entende ser a função
jurisdicional. De facto, para além das funções de administra-
ção da justiça373 , os juízes tinham atribuições no domínio da
manutenção da ordem374 , da defesa da jurisdição real375 , da
contenção dos abusos dos poderosos376 , da polícia (das esta-
lagens 377 ; das batidas aos lobos378 ; para além de deverem
assistir os vereadores e almotacés379 no exercício da sua ju-
risdição especial em casos de injúrias a almotacés. A legisla-
ção extravagante vai progressivamente confiar-lhes novas
atribuições, nomeadamente aos juízes de fora, que, com os
371 Ord.fil., I, 71.
372 Ord.fil., I, 68.
373 No domínio das funções jurisdicionais, competia aos juízes a jurisdição ordi-
nária do concelho, julgando definitivamente dentro das suas alçadas (valores
destas: Ord. fil., I,68,4 ss.) e dando apelação e agravo, daí para cima, para a
Relação do distrito. Além do título das Ordenações que vimos citando, há legis-
lação avulsa sobre os juízes. A principal pode ser encontrada em Thomaz,
1843, S.V. “juiz”.
374 Ord. fil., I, 68, ns. 3 ss., 13 a 15 e 39 ss.
375 Ibid., n. 16.
376 Ibid., n. 17.
377 Ibid., n. 20.
378 Ibid., n. 21.
379 Ibid., n. 23 ss.
259
livro_antonio_m_espanha.p65 259 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
corregedores, são, em Portugal, os pivots periféricos da ad-
ministração real(7).
Os juízes podiam ser, como se sabe, oficiais honorários
– não letrados, eleitos pelos povos de acordo com o processo
previsto nas Ordenações a que já nos referimos, não remune-
rados – ou oficiais de carreira – letrados, e de nomeação ré-
gia. No primeiro caso, estamos perante os juízes ordinários;
no segundo, perante os juízes de fora.
Contrariamente a uma ideia corrente, as justiças de
uma esmagadora maioria dos concelhos eram, ainda nos
séculos XVII e XVIII, justiças honorárias. Nos meados do
séc. XVII, havia 65 juízes de fora num total de mais de 850
concelhos, o que corresponde a dizer que apenas 8% das ter-
ras com jurisdição separada tinham justiças de carreira. Nos
restantes concelhos existiam os dois juízes da Ordenação, não
letrados e honorários380 . Durante a segunda metade do sé-
culo XVIII, o número dos juízes de fora aumenta, mas nunca
ultrapassando a quota de 20% (Monteiro, 1993, p. 310).
Das estruturas do oficial ato da justiça local faziam ain-
da parte, os tabeliães e escrivães, os contadores, distribuido-
res e inquiridores e outros oficiais menores (porteiros, carce-
reiros, etc.). A função dos tabeliães ou escrivães naturalmen-
te, a de reduzir a escrito os actos jurídicos ou judiciais. As
380 Um dos argumentos tradicionais das teses que descrevem o sistema político
moderno como “centralizado” é justamente a da substituição dos juízes ordi-
nários por juízes de fora, de nomeação régia. O que acaba de ser dito mostra
até que ponto tais teses são, pelo menos neste particular, infundadas.
260
livro_antonio_m_espanha.p65 260 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Ordenações distinguem os tabeliães das notas, encarregados
de redigir os instrumentos jurídicos que carecessem de fé
pública (Ord. fil., I,78) e os tabeliães judiciais, encarregados
da redacção dos actos judiciais praticados perante os juízes
locais (Ord. fil., I,79) (8)381 . Embora a maior parte dos actos
jurídicos não fosse reduzida a escrito382 , os tabeliães desem-
penhavam, neste mundo local, um importante papel de di-
fusão de fórmulas e princípios (em versão vulgarizada) da
cultura jurídica local. O mesmo papel de mediação que, no
domínio da cultura religiosa, era desempenhado pelos páro-
cos. Não admira, portanto, que as fontes da época os descre-
vam frequentemente como verdadeiros centros do poder
institucional local, enquanto assessores dos juízes e consulto-
res jurídicos dos particulares. Os contadores (Ord. fil., 1,91)
são os oficiais encarregados de contarem as custas dos pro-
cessos. Os inquiridores (Ord. fil., I,86) inquirem as testemu-
nhas. Os distribuidores (Ord.fil., I,85), por sua vez, têm a
função de distribuir as escrituras ou os feitos entre os vários
tabeliães do concelho, para evitar que a concorrência entre
eles promova formas de angariação de clientes contrárias à
deontologia e ao interesse geral. Trata-se, em todos os casos,
381 O exercício da profissão está sujeito a exame pelo Desembargo do Paço,
destinado a verificar “se bem escrevem, e bem leem, e se são pertencentes para
os officios” (“Reg. dos desembargadores do Paço”, no fim do liv. I das Ord. fil.,
n. 71), sendo-lhes passada carta pelo mesmo tribunal (n. 56), embora o depó-
sito do seu sinal público seja feito na relação do distrito (Ord. fil., I,44; cf.,
ainda, para as terras senhoriais, Ord.fil., II,45,16).
382 Sobre o tema e suas consequências histórico-culturais, Hespanha, 1994, 439ss.
261
livro_antonio_m_espanha.p65 261 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
de ofícios de carreira, de tipo patrimonial (como os dos
tabeliães) e de rendas exclusivamente emolumentares(9).
Aderindo a este mundo dos oficiais locais, os advoga-
dos, quer os formados em Direito, quer os procuradores ou
advogados do número, que, na linha dos antigos vozeiros
medievais, asseguravam a representação judiciária no pro-
cesso judicial tradicional e não letrado383 . Do mesmo tipo
eram os chegadores das demandas ou avindores, cuja fun-
ção era a de promover o acordo entre as partes384 .
Um outro ramo do oficialato local, ainda próximo do
anterior, é o dos órfãos. As Ordenações dispõem, de facto,
que, em todas as terras com mais de 400 vizinhos, houvesse
magistrados encarregues da cura dos interesses dos órfãos,
em homenagem à ideia de que ao poder competia a protecção
daqueles que, em virtude de uma diminuição da sua capaci-
dade (capitis deminutio) ou de condições sociais concretas,
não estavam capacitados para assumir pessoalmente a defe-
sa dos seus interesse (incapazes, pessoas colectivas, pobres,
viúvas, órfãos, dementes, pródigos, ausentes e, até, defun-
tos)385 . O principal dos oficiais dos órfãos era o juiz dos ór-
fãos, eleito nos termos em que os eram os juízes ordinários.
A ele competia organizar o cadastro dos órfãos e vigiar a
383 Cf. Ord. fil., I, 48. V. sobre estes últimos oficiais e sobre a apreciação que deles
fazia a doutrina erudita, V. Hespanha, 1994.
384 Cf. o regimento que lhes foi dado em 20.1.1519, citado por José Anastácio de
Figueiredo, Synopsis chronologica, I, 231/2.
385 Cf., para o nosso direito, os comentários de Pegas, 1669, VII (ad I,87). Fragoso,
1641, I,lb. 6, d. 15.
262
livro_antonio_m_espanha.p65 262 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
administração dos seus bens pelos respectivos tutores (ns. 3
e 22), organizar os inventários de menores (n. 4 ss.), prover
quanto à criação, educação e casamento dos órfãos (n. 10
ss.) e julgar os feitos cíveis em que fossem parte órfãos, de-
mentes ou pródigos e os feitos sobre inventários e partilhas
em que houvesse menores (n. 46 ss.)386 . Auxiliares dos juízes
dos órfãos são os escrivães dos órfãos (Ord. fil., I,89) que de-
vem manter o registo dos órfãos (n. 3), escrever nos inventá-
rios (n. 4), nos assentos das tutorias (n. 4), nos contratos so-
bre bens dos órfãos até certa valia (n. 5).
Passando para o domínio fiscal, encontramos, ainda
nos quadros do oficialato local, os ofícios das sisas. Os oficiais
das sisas estão, em geral, previstos nos regimentos das sisas
dos séculos XV e XVI (cf. supra 1.3.2. e II.4)(10). Em virtude
do regime de encabeçamento das sisas – pelo qual os conce-
lhos (na verdade, apenas cerca de um terço deles) tinha con-
tratado com a coroa o lançamento e cobrança das sisas a
troco da prestação de uma quantia fixa anual (“cabeção das
sisas”) – toda a actividade de lançamento e de cobrança das
sisas, bem como a própria actividade contenciosa daqui de-
corrente, era da responsabilidade dos órgãos concelhios, que
deviam promover o processo de arrendamento, repartição e
cobrança do tributo (Regimento de 1572, c. 1 ss.), por inter-
médio de oficiais por eles apresentados387 . Na falta destes, os
386 Dava apelação para a Relação do distrito (Ord. fil., I,88,46).
387 Para a escolha dos juízes das sisas cf. cap. 31 dos Artigos de 1476.
263
livro_antonio_m_espanha.p65 263 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
agentes da administração activa, no domínio das sisas, eram,
portanto, os próprios oficiais do concelho, recorrendo-se tam-
bém às justiças concelhias para a execução dos revéis no pa-
gamento do tributo (Regimento de 1476, c. 31)388 .
Neste capítulo das sisas, o caso de Lisboa é particular.
Aí, as sisas eram cobradas em repartições especiais (“casas”,
“Sete casas”) cada qual dedicada a certos tipos de mercado-
ria. Do mesmo modo, os seus aparelhos administrativo-bu-
rocráticos são também diferentes (e mais completos)389 .
Um último grupo de oficiais locais é constituído pelos
oficiais militares.
A organização das milícias locais, ou ordenanças data
dos finais do século XVI (regimento de 10.12.1570)390 . Aí se
dispunha que, sob o comando supremo do capitão-mor (nor-
malmente, o alcaide-mor da terra), servisse a antiga milícia
concelhia, agora organizada em companhias de ordenança
às ordens de capitães, alferes e sargentos, eleitos pelos ofi-
ciais da câmara e gente da governança (n. 1 ss.). Estamos,
como se vê, perante uma organização militar – de resto pou-
co efectiva antes das guerras da Restauração(11) – de carácter
miliciano, sujeita a oficiais honorários e em que as tropas lo-
cais não estavam integradas em qualquer cadeia permanente
e organizada de comando. Nem sequer em relação aos
388 Detalhes suplementares em Hespanha, 1994, II.4 e II.5 a).
389 Descrição detalhada em Hespanha, 1994, II.4.
390 Publicado em Pegas, 1669, XII, 264 ss. (com diplomas complementares);
Soisa, 1783, v. 183 ss. (com outros diplomas dos sécs. XVI, XVII e XVIII sobre
a organização militar).
264
livro_antonio_m_espanha.p65 264 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
alcaides-mores dos castelos (cf. Ord. fil., I, 74), pois, além de
que as alcaidarias não formavam uma malha contínua, a sua
importância efectiva decaíra muito a partir do século XV,
com o advento de novas concepções de estratégia militar.
3.4 Magistrados, oficiais, finanças e autogoverno
A amplitude do autogoverno dos concelhos mede-se
também pelo grau de autonomia do exercício das atribui-
ções destes oficiais. Daí que importe fazer o balanço da sua
autonomia ou dependência institucional.
Começando pelos juízes. Os juízes concelhios eram os
juízes ordinários na área concelhia. Isto quer dizer que lhes
competia, em geral, a jurisdição sobre todas as causas, ex-
cluídas apenas as que fossem da competência de um juiz
especial (como, v. g., o juiz dos órfãos ou o juiz das sisas).
Esta jurisdição era exercida com grande autonomia. De fac-
to, não tinham que receber ordens de qualquer magistrado
régio (ou senhorial, no caso de terras de donatários), nome-
adamente do corregedor. Este apenas podia, em relação aos
juízes, verificar se estes cumpriam os seus regimentos, ad-
ministrando a justiça honestamente e nos termos das Orde-
nações (cf. Ord. fil., I, 58, 1-6). Mas das sentenças dos juízes
apenas se podia recorrer, nos termos do direito, para as
Relações respectivas391 . Isto quer dizer que, em Portugal (ao
391 Esse recurso era obrigatório, oficiosamente (“por parte da justiça”), nas cau-
sas crime de maior gravidade, que não podiam, portanto, ser definitivamente
sentenciadas a nível local.
265
livro_antonio_m_espanha.p65 265 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
contrário do que acontecia em Castela ou em França), as
justiças concelhias funcionavam de modo absolutamente
independente, com recurso a magistrados eleitos localmen-
te. E, como a competência jurisdicional dos juízes supe-
rava amplamente as matérias propriamente judiciais, tal
autonomia de decisão era também o sinal de uma autono-
mia jurisdicional de âmbito mais vasto.
A autonomia dos concelhos na eleição dos seus ma-
gistrados é um outro dos pontos que caracterizam a auto-
nomia local, mas menos decisivo do que o anterior. Na re-
alidade, que as magistraturas concelhias fossem formalmen-
te nomeadas por uma entidade estranha ao concelho (em
geral, o rei ou o senhor) não diz grande coisa sobre onde
residiam efectivamente os centros de decisão, nem impede
que, depois de eleitas, estas gozem da ampla autonomia
jurisdicional antes mencionada, ficando desvinculadas da
entidade que as designou e, em contrapartida, sujeitas ao
controlo dos restantes órgãos concelhios392 .
Um outro aspecto da autonomia da vida institucional
local era o da provisão dos ofícios municipais. Embora hou-
vesse uma polémica sobre o assunto, a doutrina dominante
entendia que, ainda que a concessão dos ofícios camarários
pudesse ser do rei, as câmaras gozavam, em princípio, do
privilégio de os prover, privilégio que apenas podia ser revo-
392 Cf., sobre este ponto, Hespanha, 1994, II.5.
266
livro_antonio_m_espanha.p65 266 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
gado nos termos gerais (ou seja, ocorrendo uma justa causa
relacionada com a suprema utilidade pública)393 .
Por último, um factor de autonomia ou dependência
política eram as finanças. Neste plano, a base da autonomia
concelhia era que o concelho pudesse fazer frente aos seus
gastos com recurso às receitas próprias. Apesar de, durante os
séculos XVII e XVIII, ter havido momentos de crise financeira
que atingiram também os concelhos, o certo é que as institui-
ções concelhias dispunham de uma capacidade de resistência
à crise maior do que as da administração central. Nestas, de
facto, o volume dos gastos (com salários e despesas fixas de
funcionamento) era relativamente grande e incomprimível.
Enquanto que, nos concelhos, como uma administração ho-
norária ou paga com emolumentos, as despesas fixas eram
muito menores, pelo que o aparelho político-administrativo se
podia adaptar melhor aos períodos de penúria394 .
3.5 O controlo do centro
Existiam, é certo, vínculos institucionais que colocavam
os concelhos sob um certo controlo da coroa. Estes vínculos
consubstanciavam-se na acção de algumas das magistratu-
ras da administração periférica da coroa, nomeadamente na
área do governo político, da justiça e da fazenda.
393 Cf. alv. 28.2.1634 (JJAS). Detalhes em Hespanha, 1994, II.5 e V.3.
394 Monteiro, 1994, 322 ss..; Rodrigues, 1992.
267
livro_antonio_m_espanha.p65 267 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
No domínio do governo político, os concelhos estavam
sujeitos à tutela do Desembargo do Paço, que a exercia por
intermédio dos corregedores (cf. Ord. fil., I,58)395 . Eram estes
magistrados – de que se falará mais detidamente ao descre-
ver a administração periférica da coroa – que superintendiam
na administração política dos concelhos, verificando se ela
decorria de acordo com as leis e regimentos. Esta super-
intendência decorria, no entanto, sob a forma de uma tutela
externa e não de um verdadeiro poder de direcção; daí que os
corregedores, se podiam verificar a legalidade da adminis-
tração do concelho, não podiam, no entanto, dar instruções
aos seus órgãos, nem tão pouco avocar as suas competênci-
as 396 . Em face do que acaba de ser dito, parece lícito con-
cluir-se que a eficácia dos corregedores como instrumentos
de subordinação político-administrativa do reino era relati-
vamente modesta, pelo menos em confronto com outras ex-
periências europeias de constituição de níveis periféricos da
administração régia. Experiências que, como veremos, são a
fonte de inspiração da nova política da administração inau-
gurada nos meados do século XVIII397 .
395 V., para mais detalhes, Hespanha, 1994 II.5 c).
396 Salvo nos casos em que isto era permitido por lei, como, v. g., no caso da
avocação as acções judiciais em que fossem partes poderosos locais ou, em geral
em relação a qualquer acção, enquanto estiver na terra (Ord. fil., I, 58, 22-23).
397 Nas terras senhoriais isentas de correição, este controlo da coroa não tinha
lugar. Nem os ouvidores senhoriais aí assumiam as funções dos corregedores.
Na verdade, entendia-se que apenas tinha sido doado o privilégio de isenção de
correição real, mas não o de os ouvidores senhoriais exercitarem os poderes de
correição; v. infra, IV.4.
268
livro_antonio_m_espanha.p65 268 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Outro instrumento régio de controlo da administração
real eram os provedores, encarregados de tutelar a cura dos
órfãos e de outras entidades que o direito considerava feri-
das de incapacidade, de que o rei era um supremo protector
(confrarias, capelas, hospitais, cativos, defuntos e ausentes)
(cf. Ord. fil., I, 62). Em relação aos órgãos concelhios, tutela-
vam a actividade dos juízes dos órfãos (Ord. fil., 1,62,34/5);
dos tabeliães, em matéria de “resíduos” (i. e., de bens deixa-
dos por morte para os quais não houvesse sucessor); dos te-
soureiros dos concelhos em matéria de rendas concelhias (Ord.
fil., 1, 62, 67 ss.); e dos restantes oficiais concelhios em maté-
ria de obras (cf. Ord.fil., I, 62, 71)398 . Como contadores, esta-
vam encarregados da inspecção das finanças dos concelhos,
nomeadamente para garantir que estes pagavam à fazenda
real a “terça de obras” (v. Ord. fil., I, 62, 67 ss.; 72 ss.).
Tal como acontecia com os corregedores, as relações
entre os diversos níveis desta estrutura não eram, porém, de
hierarquia administrativa (de “direcção”), mas antes de tu-
tela, em que o funcionário de escalão superior se limita a con-
trolar a actividade do de escalão inferior por meio da
reapreciação dos seus actos aquando de recurso ou da
inspecção ou residência.
Também dos juízes de fora se poderia dizer – e
efectivamente isso foi dito – que desempenham a mesma fun-
ção de controlo, tanto no plano do direito como no do governo
398 V., para mais detalhes e indicações de fontes, Hespanha, 1994, II. 4.
269
livro_antonio_m_espanha.p65 269 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
(já que eles presidiam à câmara). Não sublinharemos, no en-
tanto, este aspecto, pois o estatuto do juiz de fora é igual, no
que respeita à sua autonomia em relação a cadeias hierárqui-
cas, ao do juiz ordinário, estando ambos apenas sujeitos a um
controlo indirecto, ou através dos mecanismos do recurso, ou
através da sindicância periódica destinada apenas a verificar
da observância das obrigações impostas pelo regimento399 .
Também a tentativa de transformar os juízes de fora em
supervisores dos juízes eleitos das terras vizinhas não vingou
até muito tarde. D. João I ensaiara-o, com o argumento de que
era provável que estes últimos não “pudessem fazer direito”.
Mas, face às reacções, desiste do seu intento (cf. Ord. af., II,
59,6). Durante o século XVIII, formou-se a prática de alguns
juízes de fora exercerem jurisdição sobre concelhos vizinhos
menos importantes (concelhos anexos ou “concelhinhos”), prá-
tica que é coonestada, para os casos em que existisse, pelo alvo
de 28.1.1785 (ADS, loc. resp.). Apesar disso, o juiz de fora
apenas de forma muito indirecta servia o controlo dos poderes
periféricos pelo poder central (cf., infra, IV.5.1.).
3.6 O poder municipal nos fins do Antigo Regime
O pombalismo400 significou, no plano do imaginário
e das estratégias de poder, a abertura – que depois se con-
tinuará no liberalismo político – de estratégias de “racio-
399 Sobre a residência (sindicância ou inspecção) dos juízes de fora e dos correge-
dores, feita por um desembargador nomeado pelo rei, v. Ord.fil., I,58, 31 ss.; I, 60.
400 Sobre o seu sentido político e ideológico, v. infra II.1 e Dias, 1982.
270
livro_antonio_m_espanha.p65 270 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
nalização” e de disciplina da sociedade e de centralização
e estadualização do poder. Ou seja, de construção de uma
sociedade regida por normas abstractas, visando o interesse
geral e disciplinada por um poder único e exclusivo, de que
todos os outros eram meros reflexos ou manifestações. Foi
por isso que, se, no plano da organização social, reagiu mui-
to fortemente contra todas as formas de “irracionalidade”,
no plano da organização política procurou exterminar todas
as manifestações de pluralismo político, reduzindo os anteri-
ores pólos políticos (pelo menos os mais visíveis) a simples
delegações do poder do centro.
O poder municipal não constituía uma excepção.
O modo negativo como se encarava a administração
concelhia, movida por interesses particulares, dominada pelo
arbítrio e pelo irracionalismo, privada das luzes das novas ciên-
cias da sociedade, está bem expressa, por exemplo, em todos os
preâmbulos legislativos onde se procede a reformas territo-
riais(12) ou em que se criam juízes de fora. Num alvará de
4.2.1773, em que se cria um lugar de juiz de fora, referem-se
as perturbações, que costumam nascer do governo de juízes
ordinários, e de magistrados naturais das mesmas terras, nos
quais, além de faltar a ciência do direito para a boa direcção dos
negócios, acrescem as paixões, que costumam produzir o amor
e o ódio, em grave dano do bem comum dos povos.
Noutro, de 23.7.1766, em que se regula a administra-
ção dos baldios pelas câmaras, denuncia-se a irracionalidade
e egoísmo dos critérios utilizados
271
livro_antonio_m_espanha.p65 271 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
repartindo-se entre si, seus parentes e amigos, os vereadores, e
mais pessoas que costumam andar nas governanças, por foros
e pensões muito diminutas; praticando estas lesivas alienações
debaixo de pretextos na aparência úteis, e na realidade nocivos
ao progresso, e aumento da lavoura, e criação dos gados, à sub-
sistência dos povos, e aos importantes objectos, a que foram
aplicadas as rendas dos concelhos.
Num outro (de 28.8.1766, em que se revoga a isenção
de correição do couto do mosteiro de Arouca), relatam-se de
forma pitoresca os abusos dos poderosos e a incompetência e
dependência das justiças locais:
se acha administrada a justiça por juízes ordinários, não só lei-
gos; ficando os delitos mais graves sem a competente satisfação
por falta das precisas averiguações, e dos justos procedimen-
tos; e nas causas cíveis preterida toda a ordem do judicial; e as
decisões dellas sujeitas às paixões da afeição, ou ódio; mas ain-
da rústicos, que apenas sabem pôr o seu nome, e por isso dirigi-
dos pelos advogados, escrivães, e outros oficiais de justiça da
vila, que se têm coadonado com outras pessoas seculares, e ecle-
siásticas poderosas para satisfazerem as suas paixões, e inte-
resses; de sorte que por um abuso neles inveterado de não ob-
servarem as leis, divinas, e humanas, nem obedecerem às mi-
nhas justiças, se têm precipitado em tais atrocidades.
Se consultarmos a literatura reformista dos finais do
século, o quadro de críticas é ainda mais expressivo.
o governo económico de um povo – escrevia um dos magistra-
dos encarregados da reforma territorial, em 1795401 – pede um
401 José de Abreu Bacelar Chichorro, Memoria economico-politica da província da
Extremadura [1795], ed. Moses Bensabat Amzalak, Lisboa, 1943, 101.
272
livro_antonio_m_espanha.p65 272 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
manejo muito delicado, cheio de diversas combinações, e de
uma muito regulada prudência, de que são incapazes (falo
ordinariamente) os vereadores, e mais pessoas de que se com-
põem as tais câmaras para se lhe abandonar a regalia de legis-
larem sobre objectos de tanta importância. Uma semelhante
liberdade, concedida pelas nossas leis, é incompatível com o
sistema de um governo monárquico, e própria somente ou dos
antigos povos livres das cidades hanseáticas ou os cantões
suíços, em que cada um deles goza da autoridade suprema;
mas alheia e insuportável dentro de uma nação polida, em
que o rei é o único legislador.
E, depois destas considerações em que se aponta aquilo
com que o racionalismo e o estadualismo emergentes não
podiam contemporizar (irracionalidade administrativa,
pluralismo político), remata-se com uma proposta radical,
mas muito característica:
As câmaras deveriam ficar, desde logo, privadas de toda a juris-
dição, reduzidas a simples corpos representativos, aonde se
debaterião os interesses públicos, económicos e políticos, e os
seus assentos seriam enviados ao magistrado territorial, a quem
tocaria a sua execução402 .
Às críticas nem sequer escapavam os concelhos sujei-
tos a juízes de fora403 , o que prova aquilo que antes se disse
sobre a incorrecção que seria considerar estes magistrados,
com o estatuto que tinham, como instrumentos de centrali-
zação do poder. Um outro publicista da mesma época, autor
402 Ibid., 102.
403 Cf. Ibid., 93.
273
livro_antonio_m_espanha.p65 273 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
de uma memória sobre a comarca de Leiria404 , segue a mes-
ma linha, censurando a generosidade com que as leis e orde-
nações tinham atribuído às câmaras uma jurisdição, nomea-
damente uma capacidade de legislar, “mais própria para o
governo das cidades livres da Holanda ou dos cantões suí-
ços, cada um dos quais tem o seu poder legislativo, do que
para Portugal, aonde não pode haver outro legislador que
não seja o mesmo soberano”. O projecto, aqui, é o de
incumbir S. Magestade a direcção geral da Economia Publica a
hum Ministro de Estado que por meio dos intendentes provin-
ciais faça observar, em todo o reino, as suas reais determinações
nesta matéria. Estes ministros poderiam ter nas diferentes vilas
dos seus distritos uns comissários ou subdelegados, que obser-
vando as suas instruções e cumprindo as ordens dos sobera-
nos, se não afastassem jamais do uniforme plano que tivesse
formado para o nosso governo interior. As câmaras ficariam
sendo, então, o que elas deveriam ser: uns corpos representati-
vos da cidade ou vila, para requererem e procurarem tudo o que
pertencesse ao público.
Mas, mesmo reduzidas as câmaras a isto, o plano ain-
da lhes guardava uma última gota de fel:
Os comissários, que seriam as pessoas mais inteligentes das
terras, passariam depois a camaristas, ou vereadores, já instru-
ídos das intenções de S. Majestade. As novas Luzes instruiriam
404 Lourenço José dos Guimarães Moreira, “O espírito da economia política
naturalizado em Portugal e principalmente em Leiria”, pub. em Memória
económicas inéditas (1780-1808), Lisboa, Ac. Ciênc. de Lisboa, 1987, 337-414; e
em Política, administração, economia e finanças públicas portuguesas (1750-1820),
ed. José V. Capela, Braga, Univ. do Minho, 241-2.
274
livro_antonio_m_espanha.p65 274 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
os seus colegas; o povo conheceria, então, os verdadeiros inte-
resses. A nação inteira reuniria os seus esforços para o bem: ela
encheria de bençãos o monarca, autor da sua felicidade405 .
Em todo o caso, estes ousados planos não terão execu-
ção antes das reformas liberais (de 1832). No período
pombalino e mariano, os progressos de facto institu-
cionalizados acabam por ser pequenos. São, é certo, cria-
dos muitos lugares de juízes de fora (cerca de 40 entre 1750
e 1800). São ensaiadas, como se disse, algumas reformas
territoriais. Proíbe-se que os vereadores mais velhos (“juízes
pela Ordenação”) dos concelhos em que há juízes de fora
conheçam definitivamente das causas durante a ausência
deles, devendo esperar o seu regresso para que lhes seja pos-
to termo (alv. 5.9.1774). Em todo o caso, a providência de
maior vulto é tomada em 1785 (alv. de 18.1), quando se
estabelece que os juízes ordinários dos concelhos sujeitos à
tutela de um juiz de fora não possam despachar os feitos,
por si ou por assessores, antes devendo mandá-los “aos juízes
de fora, a qualquer das villas, em que existirem, para os des-
pacharem”, limitando-se a publicar as sentenças. Se efec-
tivamente aplicada, esta providência limitaria as atribuições
dos juízes ordinários ao âmbito das decisões de mera gestão
burocrática e executiva do processo. Em contrapartida, uma
providência um pouco posterior, isenta os concelhos da su-
prema inspecção do Intendente-Geral da Polícia, então cri-
405 Ibid., 28.
275
livro_antonio_m_espanha.p65 275 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
ado e erigido em peça chave da polícia interior do reino
(aviso de 29.1.1798).
Bibliografia citada
* COELHO, Maria Helena Cruz, O Poder Concelhio. Das Origens às cor-
tes constituintes, Lisboa, C.E.F.A., 1986.
DIAS, José Sebastião da Silva, “O sentido político do pombalismo”,
História e filosofia, 1982), pp. 45-114.
FIGUEIREDO, José Anastácio de, Synopsis chronologica [...] da legislação
portuguesa (1143-1549), Lisboa, 1790,2 vols.
FRAGOSO, Baptista, Regimen Republicae Christianacae, Elaborae, 1641.
* HESPANHA, António Manuel, As Vésperas do Leviathan. Instituições e
Poder Político. Portugal- século XVII, Coimbra, Almedina, 1994.
MONTEIRO, Nuno Gonçalo, “As comunidades territoriais”, in J.
Mattoso (coord.), História de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, vol.
V (“O Antigo Regime”, dir. A. M. Hespanha), pp. 303-332.
PEGAS, Manuel Álvares, Commentaria ad Ordinationes Rgeni
Portugalliae,Ulysipone, 1669-1703, 12 (+2) tomos.
RODRIGUES, Luís Nuno, “Um século de finanças municipais: Cal-
das da Rainha (1720-1820) ”, in Penélope, 1992, pp. 49-70.
* SILVA, Ana Cristina Nogueira da, e A. M. Hespanha, “O quadro
espacial”, in J. Mattoso (coord.),História de Portugal, Lisboa, Círculo de
Leitores, vol. V (“O Antigo Regime”, dir. A. M. Hespanha), 1993 pp.
39-48, (abrev. A. D. S.)
SILVA, António Delgado, Collecção de legislação portuguesa [1750-1820],
Lisboa, 1825-1830.
SILVA, José Justino de Andrade e, Collecção chronológica de legislação
portuguesa (1603-1711), Lisboa, 1854-1859, (abrev. J. J. A. S.)
SOISA, José Roberto M. C. c., Sistema dos regimentos reais, 1783, Lisboa
6+3 vols.
SUAREZ, Francisco, Tractatus de legibus ac Deo legislatore, Coimbra, 1612.
276
livro_antonio_m_espanha.p65 276 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
THOMAZ, Manuel Femandes, Repertorio geral ou indice alphabetico da
legislação extravagante [...], Lisboa, 1843.
Bibliografia sugerida – As obras assinaladas com *.
Notas
(1) Pagus ou villa é a povoação onde não há nem governo nem tribunal próprio, ou
seja, o agregado desprovido de autonomia jurisdicional. Quanto muito, pode
existir algum magistrado ou oficial, com poderes delegados pelos magistrados
da circunscrição político-administrativa em que se insere. Em Portugal, aldeias
eram os “casais”, “lugares” ou, mesmo, as freguesias (que apenas tinham
organização político-administrativa eclesiástica). No entanto, as Ordenações
(Ord. fil., I, 65, 73/4) previam a existência de juízes vintaneiros ou pedâneos,
delegados dos juízes ordinários do concelho, em aldeias maiores, com atribui-
ções judiciais sobre causas de pouco valor.
(2) A cidade é a circunscrição com autonomia de governo. O direito conhecia uma
gradação entre elas, consoante o âmbito dessa autonomia (cf. Hespanha, 1993,
II.3). Na época moderna, o título de cidade era atribuído apenas a certos
aglomerados urbanos dotados de certa grandeza, definida por diversos critéri-
os, dos quais se destacava o ser sede de bispado (cf. Hespanha, II.3). Em
termos mais gerais, porém, cidade era qualquer povoação com jurisdição se-
parada, ou seja, com autonomia de governo e de jurisdição; a que correspondia,
no plano institucional, um órgão de governo colectivo (em Portugal, uma câ-
mara e juízes). Logo, o que a doutrina jurídica diz, em geral, para as civitates
aplica-se, entre nós, aos concelhos.
(3) A comarca corresponde ao âmbito territorial da jurisdição de um corregedor
(“correição”). Rigorosamente, não compreendia as terras isentas de correição.
Mas, na linguagem vulgar, a palavra correição designava um território contí-
nuo encabeçado pelo cabeça de correição (cujos limites coincidiam com os da
provedoria respectiva), ainda que dentro dele existissem terras senhoriais isen-
tas. Cf. Hespanha, 1994. Sobre a graduação das comarcas, cf. infra, IV.4.
(4) A “província” era, em geral, a circunscrição atribuída à jurisdição de um
magistrado. Em todo o caso, o termo aplicava-se também a uma circunscrição
com uma identidade apenas “naturai”, proveniente das características do am-
biente físico e do temperamento das suas gentes. Em Portugal, as províncias
(Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Beira, Estremadura, Alentejo e Algarve)
não tinham expressão institucional, salvo, a partir dos meados do séc. XVII, no
domínio militar (governadores das províncias). Cf., sobre o conceito de provín-
cia, Hespanha, 1994, sobre a sua identidade corográfica, cf. Silva, 1993.
(5) Competência que a lei (Ord. fil., I, 66), seguidamente, miudamente especifica,
em atribuições do domínio político (defesa das jurisdições do concelho, n. 13;
elaboração ou modificação de posturas, n. 28 ss.); do domínio económico – no
sentido alargado que a palavra tem na linguagem política moderna (guarda e
gestão dos bens do concelho, ns. 2, 6, 12; supervisão das obras do concelho, n.
24; fomento da arborização, n. 26; garantia do abastecimento, n. 8; tabelamen-
277
livro_antonio_m_espanha.p65 277 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
to dos preços e dos salários, n. 32 s.); do domínio financeiro (decidir sobre
despesas do concelho e fazê-las escriturar, propor aos corregedores ou
Desembargo do Paço o lançamento de fintas, gerir fundos especiais, ns. 35 ss.,
40 ss., 44 ss.); do domínio judicial (julgar os feitos de almotaçaria e de injúrias
verbais, n. 5). Para enumeração exaustiva e comentário, Pegas, 1669, cit., t. 5
(ad Ord. fil., I, 66).
(6) Dos restantes funcionários da administração concelhia ocorrentes nas fontes,
referiremos, como oficiais menores ou executivos, o meirinho do concelho, en-
carregado de fazer executar as decisões dos órgãos dos concelhos e de fazer
observar as posturas e regimentos locais; o porteiro do concelho, encarregado
das relações entre a câmara e o público ou outros órgãos; o tesoureiro do
concelho (Ord.fil., I, 70), encarregado de arrecadar as receitas do concelho e de
efectuar as suas despesas; os recebedores, cobradores, mordomos. Como ofici-
ais especializados, os escrivães e almoxarifes das achadas, que se encarrega-
vam, em alguns concelhos, de parte das funções dos escrivães da almotaçaria
(escrivaninha do gado achado nos lugares e tempos defesos), os escrivães e
recebedores das feiras – provavelmente, ou oficiais encarregados de escreverem
e receberem as taxas concelhias pagas pelos feirantes, ou oficiais encarregados
da escrituração e arrecadação das sisas (inclino-me para a primeira hipótese) –,
os oficiais das fontes (escrivães, mestres, olheiros) ou das obras (escrivães,
meirinhos, vedores).
(7) V., por exemplo, a provisão de 13.1.1580, que os encarrega do lançamento das
sisas; o regim. de 23.1.1643 (art.º 10.°), que lhes comete a superintendência da
cobrança do real de água; a C.R. de 15.12.1644 que lhes comete a substituição
dos provedores nas terras da rainha. No séc. XVIII, com a intensificação da
política de controlo da periferia, chovem sobre eles novos encargos: vigilância
do contrabando, da edição de panfletos satíricos, julgamento dos feitos da
alfândega na falta de juiz próprio, inspecção dos passaportes, arrecadação do
subsídio literário, delegados locais do intendente de polícia, julgamento dos
feitos das coutadas, etc.
(8) Uma ideia do tipo de actos praticados pelos tabeliães e notários e da frequência
de cada um destes tipos na época a que nos reportamos pode ser facilmente
colhida na publicação Index das notas de vários tabeliães de Lisboa entre os anos de
1580 e 1747, Lisboa 1931-1935,4 vols.; ou em “Índice dos livros de notas do
escrivão Christovam d’ Azevedo”, Boletim de trabalhos históricos. Arquivo muni-
cipal Alfredo Pimenta, 18(1956), 188; 19(1957),183; 23(1963) 1005; 24(1964)
100; 25(1965) 147.
(9) Aparecem, finalmente, outros oficiais subalternos das justiças concelhias. Os
carcereiros (Ord. fil., I,77) são os mais frequentes. Mas, no mesmo ramo de
actividade, existem também os levadores dos presos, encarregados do trans-
porte dos presos, nomeadamente para as cadeias comarcãs. Mais raros são os
escrivães das aldeias e os escrivães dos testamentos, espécie de desdobramen-
to dos escrivães notariais e judiciais do concelho, com funções nas aldeias mais
distantes ou isoladas (cf. Ord.fil., I,78,20).
(10) Artigos das sisas, de 27.9.1476 (em Soisa, 1783, I, cit., 205); Regimento do
encabeçamento das sisas de 5.6.1572 (Ibid., 278 ss.). Sobre a problemática da
data e edição destes regimentos, Figueiredo, 1790, I, 109 e 236 ss.
(11) Logo nas cortes de Tomar de 1580, quer a nobreza, quer os povos, pedem a
extinção dos alardos e dos ofícios das ordenanças pelas “vexações” e “opres-
278
livro_antonio_m_espanha.p65 278 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
sões” que traziam aos povos (cap. XXX III do povo e XIII da nobreza). Tam-
bém Manuel Severim de Faria recomendava a isenção de serviço militar como
um dos privilégios com os quais se podiam motivar os lavradores para aumen-
tar as suas culturas (cf. “Arbitrios pera a abundancia de pam em Portugal”,
intr. e notas de V.M. Godinho, em “Rev. de hist. Econ. e soc.”, 5(1980), 108).
São as grandes reformas militares de D. João IV que modificam radicalmente
a organização honorária da milícia (regimentos das ordenanças, retomando a
regulamentação sebástica, de 1642; criação da Junta dos Três Estados controlo
financeiro e logístico das tropas; decreto de 18.1.1643 e regimento de 9.5.1654,
JJAS; regimento do Conselho de Guerra, de 22.12.1644 – cf. Pegas, 1669, XII,
279 ss. e JJAS.; regimento das fronteiras, de 29.7.1645 – cf. Soisa, 1783, v. 416
ss.; regimento dos governadores de armas de 1.1.1650 e de 1.6.1678 – fun-
damental que, com os que instituem o Conselho de Guerra e a Junta dos Três
Estados, cria uma estrutura permanente de comando e controlo financeiro e
logístico, J.J.A.S., 59; Pegas, 1669, XII, 284 ss.; Soisa, 1783, v. 180 ss. O carácter
revolucionário desta nova estrutura militar fica expresso nos problemas políti-
cos e militares que causou e que levaram à extinção, em plena guerra, dos
governadores de armas, a pedido dos povos (em 13.3.1654; cf. JJAS).
(12) Existem tentativas de micro-reformas territoriais durante todo o período
pombalino, muitas vezes relacionadas com planos de fomento económico (v.g.,
do Alto Douro e Trás-os-Montes duriense, em 6.4.1759); Açores, em 2.8.1766;
Algarve, em 18.2.1773). Só mais tarde, por volta de 1790, se projecta uma
reforma territorial geral (cf. Fernando de Sousa, “Portugal nos fins do Antigo
Regime (Fontes para o seu estudo)”, Braccara Augusta, 31 (1977); José M. Ama-
do Mendes, Trás-as-Montes nos fins do séc. XVIII segundo um manuscrito de 1796,
Coimbra, 1981, “Introdução”, 1 ss.
279
livro_antonio_m_espanha.p65 279 11/11/2005, 03:02
livro_antonio_m_espanha.p65 280 11/11/2005, 03:02
4. OS SENHORIOS
Objectivos da aprendizagem
Quando terminar esta unidade, o aluno deve ser capaz de:
• Equacionar a problemática da caracterização como
feudal ou não do regime político-institucional dos
senhorios portugueses;
• Definir “direitos reais”, “jurisdições”, “bens da coroa”;
• Identificar e definir os diferentes poderes e atribui-
ções atribuíveis aos senhores;
• Descrever os traços gerais de constituição e trans-
missão dos senhorios;
• Distinguir entre senhores e meros donatários
da coroa;
• Delinear as linhas gerais de evolução da política da
coroa em relação aos senhorios.
4.1 Introdução
A historiografia político-institucional tradicional des-
valorizou, em regra, a importância dos poderes senhoriais.
Primeiro, pela resposta que dava à questão da existência ou
não de um regime “feudal” em Portugal (v. infra). Depois,
livro_antonio_m_espanha.p65 281 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
pela leitura que fazia da legislação e da política da coroa em
relação aos senhorios durante a Época Moderna (i.e., grosso
modo, a partir de D. João II)406 .
Comecemos por uma breve alusão à questão do “feu-
dalismo”.
A expressão “feudalismo” foi utilizada, ainda no sécu-
lo XVIII, para descrever o sistema político português.
Iluministas e liberais servem-se, nomeadamente, dela (com
do adjectivo “gótico”) para classificar aquilo que, no plano
político, consideravam contrário ao modelo político das na-
ções “polidas e iluminadas”. Pascoal de Melo, por exemplo,
usa-a, com um tom fortemente negativo, para classificar as
prestações forais. Mas é no século XIX, na seqüência da obra
do espanhol Francisco de Cárdenas (Ensayo sobre la historia
da la propriedad territorial en España, 1873-1875) e do ensaio
de Alexandre Herculano, “Da existência ou não do feuda-
lismo nos reinos de Leão, Castela e Portugal” (Opúsculos),
que o debate se situa no campo historiográfico. Herculano e
Gama Barros (História da Administração Pública ..., I p. 162
ss.), fundando-se na não obrigatoriedade do serviço militar
nobre, na não hereditariedade das concessões de terras aos
senhores (v. infra), no uso excepcional da palavra “feudo”,
na permanência de laços de vassalagem “geral” ligando to-
dos os “naturais” do reino directamente ao rei e na conse-
406 Para Portugal, o panorama mais recente do regime senhorial na Época Moder-
na é o dado por Monteiro, 1993 (com indicações bibliográficas; v. outra biblio-
grafia em Hespanha, 1992).
282
livro_antonio_m_espanha.p65 282 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
quente existência de direitos reais inseparáveis da pessoa do
rei (regalia majora), negavam a existência de feudalismo em
Portugal. Já no século XX, Paulo Merêa e Torquato de Sousa
Soares aderiram a estes pontos de vista, ficando estabe-
lecida, entre nós, a opinião de que o modelo português
(em geral, ibérico) de organização política na Idade Mé-
dia era específico – um modelo “senhorial”, mas não “feu-
dal”. Deve notar-se que esta visão historiográfica se adequa-
va bem à ideologia dominante nos círculos conservadores
portugueses dos séculos XIX e XX, pois sublinhava um ale-
gado papel unificador, regulador e arbitral da coroa, seme-
lhante ao que ela desempenhava no “cartismo” ou ao que cabia
ao Estado, quer no modelo liberal, quer na concepção autori-
tária de Estado do corporativismo. Estes pontos de vista con-
tribuíram para disseminar a ideia da reduzida relevância do
poder senhorial no conjunto do sistema político português, já
na Idade Média, mas, sobretudo, na Época Moderna.
Os anos sessenta deste século são marcados, em Portu-
gal, pela historiografia marxista. Em 1963, Álvaro Cunhal
publica um ensaio sobre história medieval portuguesa (“La
lutte de classes en Portugal à la fin du moyen âge”, Recherches
internationales à la lumiere du marxisme, 37, (1963) pp. 93-122;
trad. port. 1974); aí, as especificidades do modelo jurídico
são pouco consideradas, defendendo-se, com base nos traços
do modelo económico-social, o carácter feudal da socieda-
de portuguesa medieval; apesar de clandestino até 1974, este
texto influencia a medievística subsequente (A. H. Oliveira
283
livro_antonio_m_espanha.p65 283 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Marques, Armando de Castro, António Borges Coelho, e o
autor deste texto). No plano dos mecanismos de apropriação
do produto económico, começa-se a realçar (por vezes com
algum exagero) o peso do quinhão senhorial407 . Mas, no pla-
no jurídico-político, é só na minha História das Instituições,
1982, que, pela primeira vez, se trata com detalhe a armadu-
ra jurídica dos senhorios e se ensaia um movimento de
revalorização do poder senhorial, enquanto componente do
sistema político português da Época Moderna408 . Pouco de-
pois, José Mattoso409 reavalia de forma nova a questão do
feudalismo na monarquia medieval, salientando a importân-
cia do modelo ideológico feudal (fidelidade vassalática, par
serviço-benefício, linhagem) na organização interna dos
grupos sociais dominantes. A importância destes valores tem
sido confirmada, para a Época Moderna, por investigações
mais recentes, de que se destacam as de Nuno Monteiro410 .
É este o pano de fundo, caracterizado por ingredientes
teóricos e ideológicos, que explica o evoluir das ideias sobre a
importância do poder senhorial na historiografia portuguesa.
Noutro lugar411 , avaliei de forma mais detalhada os argumen-
tos em que se baseia a posição tradicional do declínio do regi-
407 E, consequentemente, a importância das lutas antisenhoriais dos finais do
Antigo Regime (cf. Silbert, 1972).
408 A inspiração teórica vinha de Max Weber e de Otto Brunner; mas levava-se,
também, a cabo uma revisão da teoria marxista, sublinhando a importância
dos factores não económicos na caracterização dos modelos sociais, nomeada-
mente no “feudalismo tardio” (cf. Hespanha, 1982,1,92 ss.).
409 Mattoso, 1985, I, 47 ss.
410 Cf., como síntese, Monteiro, 1993.
411 Hespanha, 1994.
284
livro_antonio_m_espanha.p65 284 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
me senhorial em Portugal a partir do século XV. Para aí reme-
to os leitores, aproveitando aqui apenas a conclusão geral.
É, porventura, no plano simbólico ou ideológico que a
tese da decadência do poder senhorial nos inícios da Época
Moderna melhor se justifica. Na verdade, a doutrina deste
período – é certo que na esteira de tópicos anteriores – atribui
ao rei um papel central e eminente no seio do sistema do
poder político. A própria legislação está impregnada deste
conceito do poder real. Não apenas nas suas fórmulas (que
exprimem a superioridade, o senhorio eminente e o poder
“absoluto” do rei); mas também nos seus conteúdos, quando
considera como essencialmente reais certos direitos (Ord. fil.,
II, 26), certos tratamentos (v. g., “Nosso Senhor”, Ord. fil., II,
45, 3), certas prerrogativas (v. g., nobilitar e conceder cartas
de brasão, Ord. fil., II, 26; ter “relação” ou “decidir por
acórdão”, Ord. fil., II, 45, 4; exercer a correição, Ord. fil., II,
45, 8, etc.). Embora seja difícil encontrar uma norma destas
que não tenha sido dispensada em favor de algum senhor,
não se pode ignorar o seu papel na conformação de uma
certa visão do poder.
Mas, mesmo o plano simbólico também é mais comple-
xo, não se esgotando neste aspecto do papel do rei no seio do
sistema político. Abrange também o papel aí reservado aos
elementos nobiliárquicos e senhoriais. E, neste ponto, cum-
pre salientar que a ideologia moderna sempre estabeleceu uma
relação íntima entre a monarquia e os estratos senhoriais,
como elementos interdependentes, de tal modo que a força e
285
livro_antonio_m_espanha.p65 285 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
prestígio da primeira repousava na força e prestígio dos se-
gundos. O casticismo e aristocratismo da sociedade barroca
peninsular reforçarão ainda o peso simbólico dos estamentos
nobiliárquicos-senhoriais412 .
Por muita atenção que o simbolismo mereça, como ele-
mento conformador das relações políticas, o que é certo é
que o núcleo das relações políticas se formaliza ao nível
institucional. E, a este nível, os mecanismos praticados do
poder contradizem, como veremos mais detidamente, as mais
rotundas das afirmações doutrinais.
Concentremo-nos, por isso, nas questões institucionais,
descrevendo os traços mais característicos do regime jurídi-
co e político dos senhorios. Começaremos por definir o âm-
bito ou conteúdo dos poderes senhoriais. Seguidamente,
procuraremos averiguar a importância ou extensão – em
termos geográficos, demográficos, económicos, estratégicos
– dos domínios senhoriais.
4.2 O regime político-jurídico dos senhorios
A caracterização dos senhorios portugueses da Época
Moderna decorre do regime jurídico relativo à sua constitui-
ção, ao seu âmbito e à sua transmissão.
Nos seus aspectos jurídico-institucionais, o regime se-
nhorial português entronca numa antiga tradição de textos
412 Sobre estes aspectos, como elementos do complexo de mecanismos políticos
da corte, Hespanha, 1993b.
286
livro_antonio_m_espanha.p65 286 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
jurídicos, que se inicia nos Libri feodorum [livros dos feudos],
uma colectânea de direito feudal lombardo dos séculos XI e
XII, normalmente editada conjuntamente com o Código de
Justinianeu. Na Península, o primeiro tratamento do direito
dos feudos aparece nas Siete partidas (c. 1265, bem conheci-
das em Portugal no século XIV). Aí se define o feudo como
“bien fecho que el Senhor faze a algun ome, porque se torne
su vassalo; e el faze omenaje del ser leal” (Part., IV, 26)413 . O
passo seguinte fixa-se no foro de Espanha e nos correspon-
dentes castelhanas das concessões feudais: a “terra” seria o
correspondente ao “feudo de câmara”, a concessão de uma
prestação económica, livremente revogável; já a “honra”
seria o correspondente à concessão irrevogável (salvo o caso
de falta grave dos deveres do feudatário) de bens de raiz.
Ao contrário do que acontecia no direito feudal comum, os
vassalos castelhanos não estariam obrigados a serviços con-
cretos, especificados no pacto feudal, mas apenas a uma
obrigação genérica de serviço leal. Esta ideia da especiali-
dade do regime vassalático peninsular fez curso. S. Tomás
(De rebuspublicis et principum institutione) também a corro-
bora, afirmando que, nas Espanhas, e principalmente em
Castela, todos os principais vassalos do rei se chamavam
ricos-homens, pois o rei daria a cada barão uma quantia,
de acordo com os seus méritos, não tendo a maior parte
413 A definição dos feudistas era a seguinte: “o feudo é uma concessão livre e
perpétua de uma coisa imóvel, ou equivalente, com a transmissão do domínio
útil, retendo a propriedade, com prestação de fidelidade e exibição de servi-
ços” (Curtius, Baldo).
287
livro_antonio_m_espanha.p65 287 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
deles jurisdições ou meios militares que não os concedidos
pelo rei. De onde decorreria a sua dependência, nomeada-
mente económica, em relação a este.
Não é líquido que esta imagem literária de um regime
senhorial mais dependente da coroa aqui do que no resto da
Europa correspondesse à situação real. Num mundo escasso
em registos cuidados das situações vividas, era fácil esta dis-
seminação de imagens baseada unicamente na autoridade
dos textos em que apareciam. O que é certo é que ela se per-
petua, nomeadamente nos textos legais e doutrinais portu-
gueses dos finais da Idade Média e da Época Moderna.
Em Portugal, é a Lei Mental (Ord. man., n, 17; Ord.
fil., II, 35) que fixa, desde os inícios do século XV, o regime
das concessões vassálicas, em termos bastante próximos das
concessões feudais do direito comum. Aplica-se apenas às
concessões com obrigações de serviço nobre, excluindo –
tal como a doutrina do direito comum – as concessões con-
tra uma prestação económica (como as enfitêuticas, cf. Ord.
fil., II, 35,7). Quanto ao serviço, adopta o “costume de
Espanha” referido nas Partidas, estabelecendo (Ord. fil., II,
35, 3) que o donatário não seria obrigado a “servir com
certas lanças, como por feudo, porque queria que não fos-
sem havidas por terras feudatárias, nem tivessem a nature-
za de feudo, mas fosse obrigado a servir, quando por elle
fosse mandado”. Quanto à devolução sucessória, afastou-
se o direito feudal lombardo compilado nos libri feudorum,
288
livro_antonio_m_espanha.p65 288 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
que permitia a divisibilidade dos feudos, e adopta414 a solu-
ção da indivisibilidade e primogenitura. Depois, consagra
a exclusão da linha feminina, em consonância, também, com
a solução das Partidas. A Lei Mental favoreceu, por fim, o
princípio de que os bens da coroa, embora doados, nunca
perdem essa natureza, não podendo ser alienados pelos
donatários sem licença régia (Ord. fil., II, 35, 3). Pouco de-
pois, no tempo de D. João II, estabeleceu-se a regra de que
as doações deviam ser confirmadas, quer à morte do
donatário, (confirmação por sucessão), quer por morte do
rei (confirmação de rei a rei). Dois outros títulos das Orde-
nações (Ord. af., II, 24; II, 40; Ord. man., II, 15; II, 26; Ord.
fil., II, 26; lI, 45) interessam à definição das relações feudo-
vassálicas na Época Moderna. O primeiro lista os direitos
reais, ou seja, os direitos próprios do rei; o segundo fixa o
princípio de que tais direitos, bem como as jurisdições, não
podem ser tituladas senão por carta415 , fixando, suplemen-
tarmente, algumas regras de interpretação destas cartas (1).
Na prática, a Lei Mental constituiu uma moldura ju-
rídica muito complacente, sendo frequentemente dispen-
sada, no sentido de autorizar a sucessão por linha feminina.
Também a política de confirmações foi sempre generosa,
mesmo nos momentos de maior tensão política. À sua som-
414 Decerto por atracção exercida pelo regime da sucessão da coroa e do princípio
aristotélico, recebido pelo direito comum, bem como pelos direitos feudais
franco e siciliano, de que “as dignidades e jurisdições não se dividem”.
415 Excluindo, portanto, a possibilidade de aquisição por prescrição, admitida
pelo direito comum.
289
livro_antonio_m_espanha.p65 289 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
bra, as casas nobres puderam perpetuar-se (amparadas pelo
princípio da indivisibilidade, por vezes reforçado com a ins-
tituição de morgados dos bens da coroa).
Todo este regime entrou em crise nos finais do século
XVIII, embora tal crise tivesse sido prenunciada pela política
de centralização do poder. A lei de 19.7.1790 aboliu as justi-
ças senhoriais e as isenções de correição; os restantes direitos
reais, nomeadamente, os direitos de foral e as banalidades,
são abolidos na sequência da revolução liberal.
Vejamos, porém, mais detalhadamente, os traços mais
característicos do regime jurídico dos senhorios.
4.3 O que é um senhorio
Segundo uma definição da época416 , “chamam-se se-
nhores aqueles que estão constituídos em alguma dignidade
ou poder; a quem foi concedida alguma terra, jurisdição ou
império; ou em relação aos quais o povo é súbdito”.
Nesta definição, o elemento chave é poder ou os seus
equivalentes na linguagem jurídico política da época –
iurisdictio, imperium.
4.3.1 Jurisdição
Por iurisdictio (jurisdição) entendia-se, o “poder insti-
tuído pela república de dizer o direito e decidir em equidade
[enquanto pessoa pública]”(2). Quanto ao imperium, ele é
416 Pegas, 1669, XII, ad II, 45, rubr., gl. 1, n. 2.
290
livro_antonio_m_espanha.p65 290 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
definido como o “poder [de usar a espada] para coagir os
homens facínoras”417 . Aperfeiçoamentos conceituais suces-
sivos levaram a que o imperium acabasse por ser sinónimo de
poder de coerção de que um magistrado pode usar oficiosa-
mente, ou em vista da utilidade pública (merum imperium) ou
da utilidade de um particular (mixtum imperium)418 -419 .
Em suma, senhor era quem dispunha de um poder ou
jurisdição sobre outrem conferido pela república. Tal era o
uso da palavra segundo o direito feudal e o direito comum.
Senhor é Cristo, senhores são os reis ou os príncipes(3),
senhor é o pater em sua casa em relação à sua mulher, filhos
e criados. Fora disto, a palavra não se devia usar em termos
genéricos: “A ninguém se deve chamar meu Senhor, ou Se-
nhor meu, nem nosso Senhor, por serem estes títulos própri-
os de Deus no Céu, e do Rei na terra, e assim aos Donatários
da Coroa, e Senhores de terras, só se pode escrever Senhor
417 Cf. D., 2,1,3 (note-se que o conceito de “espada” se foi desmaterializando,
abarcando qualquer tipo de coerção usada ex officio pelo magistrado).
418 Sobre estas classificações v. Hespanha, 1984; Vallejo, 1992, max. 82 ss.
419 É nestes termos que Domingos Antunes Portugal descreve o conteúdo dos
dois conceitos: “O mero império [...] consiste no poder supremo de gládio [...].
Assim, diz respeito à coerção dos criminosos, como, por exemplo, à condena-
ção ou deportação e a outras coisas relativas à punição dos delitos e à com-
posição dos litígios [...]. O misto império compete aos magistrados por direito
próprio, pois adere e está compreendido na jurisdição [...], por esta razão se
dizendo misto, pois está misturado com a jurisdição de tal modo que não se
podem separar. E como nesta mistura umas vezes se salienta o império e
noutras a jurisdição, costuma-se falar de dois graus de misto império, no
primeiro dos quais se compreendem aquelas atribuições em que o império
suplanta a jurisdição, como mandar fazer estipulações pretórias ou entregar a
posse [...] e no segundo aquelas em que a jurisdição suplanta o império, como
dar juízes aos litigantes” (Portugal, 1673,13, c. 44, n. 16).
291
livro_antonio_m_espanha.p65 291 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
de tal terra, porque ainda que destas o seja, não é das pesso-
as”, (Pegas, 1669). Em todo o caso, senhores podem ainda
ser aqueles a quem a república atribuiu jurisdição.
O direito comum e feudal tendia a conceber a jurisdi-
ção senhorial como ordinária, i. e, decorrente da própria na-
tureza política da sociedade. Os dados específicos do direito
português posterior à Lei Mental (v. infra) levavam, porém, a
que os nossos juristas realçassem, pelo contrário, o carácter
delegado da jurisdição senhorial, considerando os senhores
como lugares-tenentes do rei420 . No século XVIII, quando se
insiste ainda mais no primado (ou, mesmo, no carácter ex-
clusivo) do poder real em relação a todos os outros poderes,
refere-se que era justamente esse carácter delegado dos po-
deres dos senhores portugueses que levara D. Duarte a subli-
nhar na Lei Mental (v, infra) o seu carácter não feudal.
4.3.2 Direitos reais
Para além das jurisdições, o rei podia também conce-
der direitos seus, direitos reais (ou regalia). Em rigor, isto
não importava a aquisição pelo donatário da qualidade
de senhor. Mas apenas da de donatário (ou de donatário da
coroa, se os bens doados fossem bens da coroa). Estas distin-
ções exigem algumas precisões suplementares sobre o con-
ceito de direitos reais.
As fontes jurídicas dos direitos comum ou régio conti-
nham enumerações dos direitos reais (regalia). Isso acontecia
420 Cf. Pegas, 1669, loc, cit., ns, 11 e 43.
292
livro_antonio_m_espanha.p65 292 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
com o texto Quae sint regalia, dos Liber feudorum, incorpora-
dos na versão medieval do Corpus iuris, e com as Ordenações
(Ord.fil., II, 26; Regimento da fazenda de 1516, c. 237).
Basta uma leitura do tit. 26 do livro II das Ordenações
para nos darmos conta do carácter heterogéneo dos direitos
aqui considerados(4). Referem-se à criação de magistrados e
oficiais, de guerra e de justiça; à autorização de duelos; à
cunhagem de moeda; ao lançamento de pedidos, fintas e tri-
butos; à exigência de serviços na paz e na guerra421 ; ao do-
mínio das estradas, dos portos422 , do mar adjacente e das
suas ilhas423 , bem como das salinas424 e das pescarias425 ; ao
domínio das minas426 ; à exigência de portagens e barcagens;
ao domínio dos tesouros, dos bens vagos (res nullius) ou que
tivessem vagado(5), dos bens dos condenados a confisco e
dos infames, bem como os bens que o direito penal conside-
rava perdidos para a coroa; às heranças vacantes, etc(6).
No caso português, a lista do tit. II, 26 terminava por
uma cláusula geral – “e assim geralmente todo o encarrego
assi real, como pessoal, ou misto, que seja imposto pela lei, ou
por costume longamente aprovado” (II, 26, 33). Assim, os ju-
421 Aqui se fundava o direito às terças dos concelhos, à expropriação por utilida-
de pública e à requisição de bens pela mesma razão.
422 Por aqui se justificavam as décimas das alfândegas.
423 Aqui fundavam alguns a pretensão portuguesa e castelhana ao monopólio do
comércio com o ultramar.
424 Aqui se fundava o direito de pôr tributos no sal, bem como o domínio real das
salinas, salgados e sapais (que muitas vezes eram dadas em sesmaria, para
secagem e cultivo, Cabedo, 1601, II, 53).
425 Aqui se fundavam as sisas do pescado e os impostos das almadravas.
426 Aqui se fundava a cobrança de quintos ou outros tributos sobre a mineração.
293
livro_antonio_m_espanha.p65 293 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
ristas(7) procuravam substituir estas enumerações, incomple-
tas, por uma definição. E, assim, definiam os direitos reais
como os direitos que competem ao rei enquanto pessoa pú-
blica. Distinguiam, assim, os direitos que os particulares (ou o
rei, enquanto particular) tinham uns em relação aos outros
em virtude de pactos, daqueles que o rei tinha em relação aos
vassalos por imposição da lei ou costume. Estavam, em todo o
caso, conscientes de que não se tratava de uma categoria
homogénea, pois uns procediam “do supremo poder do rei”,
outros de um “domínio universal” que este teria sobre o reino,
outros do direito originário de conquista, outros de pactos an-
tigos, da prescrição ou costumes longamente usados. Alguns
recordam a distinção romana entre aerarium, património desti-
nado à “defesa do estado da república, sua dignidade e salva-
ção”, e fiscum, votado às despesas pessoais ou particulares do
príncipe. Mas quase todos reconhecem que as classificações
romanas não tinham relevo prático-institucional.
4.3.3 As categorias dos bens e direitos do rei. Bens privados,
bens fiscais e bens da coroa
Jorge de Cabedo, escrevendo nos finais do século
XVI427 , classifica os direitos reais em (i) os que “procedem
do supremo poder do príncipe, competindo ao rei ou em
razão da jurisdição ou do poder que tem”428 ; (ii) e os que
427 Cabedo, 1601,II, dec. 42.
428 Aqui incluindo a criação de capitães de terra e mar, de magistrados e de
oficiais; a autorização de justas e duelos; a cunhagem de moeda (Ibid., n. 4).
294
livro_antonio_m_espanha.p65 294 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
“procedem do domínio universal do rei e lhe competem em
razão de tal domínio” 429 . Com esta classificação ex causa
efficiente combina-se uma outra ex causa finale, baseada na
finalidade a que tais direitos estão atribuídos. Distingue então
entre (i) os que “competem ao rei como senhor da coroa do
reino, que são desta e de que ele não é senão administrador,
visando o sustento do estado da coroa”430 e (ii) os que “o rei
tem enquanto privado”(8)431 .
Domingos Antunes Portugal432 mantém, basicamen-
te, a mesma sistematização, opondo aos bens privados do rei
os seus bens públicos, reais ou fiscais. Depois de aproximar
esta classificação da distinção romana entre aerarium e fiscum
e de salientar o seu carácter meramente académico(9), iden-
tifica os bens públicos com os bens da coroa, salientando a
inalienabilidade destes(10) e enumerando as suas principais
classes: cidades, vilas e castelos (n. 9 ss.), reguengos (ns. 26-
29), maninhos (n. 80), sesmarias (n. 91, remetendo para
Ord.fil., IV,43,13) e outros (n. 93)433 .
A nitidez desta bipartição, que faria incluir nos bens da
coroa todo o património real é, no entanto, perturbada pelos
dados legais, que se prendiam com o regime especial (quanto
429 Inclui aqui os rios, as vias públicas, os tributos.
430 Incluem os pastos, defesas, montados, matas, baldios, coutadas, granjas e
casas de que a coroa tem o domínio directo ou útil.
431 Entre os primeiros, alguns seriam reservados ao rei, que não os poderia alienar
(ibid.. n.5).
432 Portugal, 1673,II, c. 4,1 ss.; e III, c.43,1 ss.
433 Enumera as vias, rios, portos, ilhas, bens vagos, bens dos condenados e dos
proscritos, padroados, bens dos infames, multas e penas.
295
livro_antonio_m_espanha.p65 295 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
à alienação da coroa, à indivisibilidade e às regras de suces-
são) introduzido pela Lei Mental (Ord. fil., lI, 35). Por um
lado, as ordenações em que está transcrita a Lei Mental exi-
gem a incorporação formal de certos bens nos “próprios da
coroa” (Ord. fil., II, 36)434 (11), de onde decorria que, se não
fossem incorporados, não seriam da coroa do reino e não
estariam, portanto, sujeitos ao regime da Lei Mental. Por outro
lado, as mesmas Ordenações estabeleciam que certos bens –
que, nesta classificação de Portugal aparecem incluídos nos
bens da coroa – não estavam sujeitos à Lei Mental, podendo
ser alienados pelos donatários ou partilhados pelos herdei-
ros destes, e estando sujeitos ao regime do direito comum.
Tal era o caso dos bens dados pelo rei em enfiteuse (que esta-
vam isentos da Lei Mental, regendo-se pelo regime normal
da enfiteuse; cf. Ord. fil., II, 35, 7 e IV, 41) e dos reguengos
doados em propriedade plena, gratuitamente ou com a obri-
gação de pagamento de alguma pensão (que podiam ser li-
vremente alienados, Ord. fil., II, 17). Portugal, muito apega-
do a uma classificação bipartida de longa tradição no direito
comum, não cria uma categoria específica para estes bens,
limitando-se a dizer que, embora sejam da coroa do reino,
não se regulam pela Lei Mental (ibid., III,43,26 e 29) (12).
São estes grãos de areia que obrigam juristas seguintes a
introduzir alguma complexidade suplementar na classificação.
434 Ou seja, nos livros de tombo do património da coroa existentes na Torre do
Tombo.
296
livro_antonio_m_espanha.p65 296 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Tratamento seguinte mais interessante é o de Manuel
Álvares Pegas, no seu tratado sobre a Lei Mental, incluído
nos tomos 10 e 11 do comentário às Ordenações.
Pegas começa por distinguir, como Portugal, entre pa-
trimónio privado (“enquanto pessoa orgânica”) e público
(“enquanto rei, e a que chamam domínio da coroa e cuja
propriedade respeita à magestade e à coroa”)(13). No entan-
to, como ele reconhece, as questões que se punham na práti-
ca diziam apenas respeito ao património público e, dentro
deste, à distinção entre bens da coroa do reino, a que se apli-
cava a Lei Mental, e bens reais a que esta não se aplicava (n.
4). Do que se tratava, portanto, era de introduzir uma ulteri-
or distinção no seio do património público do príncipe, dis-
tinguindo entre “bens patrimoniais e reais dei Rei” e “bens
da coroa”. “Ha uns bens da Coroa – escreve Diogo Marchão
Themudo – sujeitos à disposição da Lei Mental; outros são
bens da Coroa, patrimoniais, que não são sujeitos à Lei Men-
tal: os primeiros são aqueles que são bens da Coroa por sua
natureza, como jurisdições, direitos reais, tributos, e aqueles
que pela sua real, ou verbal incorporação, são bens da Co-
roa, e não do Fisco, nem do Príncipe patrimoniais, como os
bens vacantes, e confiscados, e os bens dos próprios. E todos
os mais por qualquer maneira adquiridos à Coroa, como
Capelas, e Morgados, prazos vacantes, que ainda que se cha-
mem da Coroa, não são daqueles bens que estão sujeitos à
Lei Mental, ainda que sejam do Rei, e do seu Fisco como Rei,
porque somente são as ditas Jurisdições, direitos reais e tribu-
297
livro_antonio_m_espanha.p65 297 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
tos, e o mais que pela real, ou verbal incorporação são verda-
deiramente da Coroa [...] inalienáveis e indivisíveis, sujeitos
à dita Lei Mental” (in Pegas, 1669, X, p. 18).
Passando à enumeração dos bens da coroa, Pegas vai-
os arrumando numa ou noutra categoria. Era claro que es-
tavam sujeitos à Lei Mental, as cidades, vilas e castelos (ibid.,
n. 5), os montes maninhos (n. 21), as jugadas (n. 23), os
direitos reais enumerados na Ord. fil., II, 26, os foros, ren-
das e direitos reais concedidos de juro e herdade (n. 24; cf.
Ord. fil., II,35,6), os padroados (n. 25; cf. Ord. fil., II,35,5),
as jurisdições (n. 26), as alcaidarias (n. 31), as décimas das
ilhas (n. 34). Claramente isentos da Lei Mental estavam os
bens vagos (n. 8), os bens confiscados (n. 16), as sesmarias
(n. 13), os ofícios (n. 30), os direitos a desembargos régios
ou as acções por serviços (n. 40)435 -436 .
4.3.4 A doutrina iluminista sobre o património régio
No texto, antes citado, de Diogo Marchão Themudo
já se encontra in nuce a distinção que mais tarde será feita
por Pascoal de Melo Freire, ao contrapor, no âmbito dos bens
reais, os bens do erário público (ou da coroa do reino) aos bens
fiscais (dominiais ou reguengos). Pascoal de Melo (1,IV,1) pro-
cura aproximar-se da distinção romana entre erário público
435 Isto significa que estes direitos em relação à coroa podiam ser livremente
transmitidos pelos seus titulares (cf., em todo o caso, Ord. fil., IV, 14).
436 Sobre a classificação de reguengos, capelas e comendas, v. Hespanha, “Os
conceitos de património” (artigo a publicar).
298
livro_antonio_m_espanha.p65 298 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
(= bens da coroa) e fisco do príncipe (= reguengos e direitos
reais). Mas, nesta época de apogeu de uma concepção
“pura” da monarquia e de identificação do soberano com
a própria república, o nosso teórico do absolutismo ilumi-
nado não deixa de pôr reticências à distinção, que está
subjacente aos conceitos romanos, entre “povo” (ou “re-
pública”) e príncipe, cada qual titular do seu património
público. E, assim, adverte que a distinção romana não cos-
tuma existir de forma tão pura nas monarquias, tal como
também já entre os romanos, na época do império e do do-
minado, se corrompera (Melo, 1789a, I,4,1). Na verdade, in-
corporando-se a república no monarca, os respectivos
patrimónios fundiam-se também, não sendo a distinção en-
tre erário e fisco senão uma questão de palavras. É isto que
explica, uns parágrafos adiante (I,3,4), quando esclarece que,
na linguagem corrente, a distinção entre bens da coroa e fis-
cais se baseava num uso da linguagem vulgar, que não no
rigor do direito. Na verdade, a palavra fisco era usada para
designar os bens que tinham vindo à coroa in malam partem
(i. e., por motivos maus, como a punição de crimes e indigni-
dades), enquanto que se reservava a expressão “bens da co-
roa do reino” para os bens incorporados por qualquer outra
causa. E, assim, uns e outros deviam ser considerados da
mesma forma quanto ao seu regime jurídico.
Aparentemente, o que Pascoal de Melo pretende é um
alargamento do regime dos bens da coroa a todos os bens
fiscais, no âmbito de uma estratégia que o leva a também a
299
livro_antonio_m_espanha.p65 299 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
considerar os ofícios como bens da coroa, sujeitos portanto
às normas da Lei Mental (nomeadamente quanto à necessi-
dade de confirmação da sua doação).
Esta homogeneização dos direitos reais e a subjacente
identificação entre imperante e república, encontra-se, já sem
quaisquer hipotecas à tradição romana, em Francisco de
Sousa Sampaio (Sampaio, 1793, II, tits. 26 ss.): “por direitos
reais entendemos todos os direitos, faculdades, ou possessões,
que pertencem ao Sumo Imperante, como tal, e como repre-
sentante da sociedade”. Nestes direitos se compreenderiam,
indistintamente, os direitos que lhe competiam em função da
dignidade real, em função da representação que tinham da
sociedade (direitos majestáticos essenciais) ou em função de
quaisquer pactos ou costumes (direitos adventícios, maxime,
bens da coroa) (II, 26, 99, n. b). Nos primeiros compreendi-
am-se os direitos inerentes à jurisdição régia437 e os direitos
que advêm ao rei como representante da sociedade438 . Nos
direitos adventícios (dominiais ou “da coroa”), compreen-
dem-se já, sem qualquer distinção, os bens “fiscais, reguengos,
jugadeiros, e em geral todos os dominiais” (II, 26,103, n. I). A
categoria de bens “do erário” é reservada para os tributos
gerais e terças, aplicados à satisfação das necessidades públi-
cas (ibid.). O que se dá, portanto, é a integração, na categoria
437 Criação de magistrados, lançamento de tributos gerais, expropriações e requi-
sições, moedagem (II, 92).
438 Aqui se compreendiam, em geral, as rei nullius ou comuns: as coisas vagas, as
estradas, as rendas das pescarias, os portos de mar, os veios de metal, as
presas (II,104).
300
livro_antonio_m_espanha.p65 300 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
única de “bens da coroa” de todos os bens e direitos reais;
com a única excepção daqueles que, por estarem votados à
utilidade pública, têm uma disponibilidade limitada, embora
não deixem de ser do rei439 .
Alguns anos depois, António Ribeiro dos Santos é ain-
da mais claro e preciso ao ligar intimamente a ideia de di-
reitos reais à ideia da unidade do poder ou majestade. Daí
que António Ribeiro dos Santos distinga, cuidadosamente, a
nova da antiga concepção dos direitos do rei: “direitos reaes
ou majestaticos [...], ou são os direitos geraes, que emanam
da natureza da sociedade civil, e do supremo poder, que nella
ha; ou são os direitos particulares, que provém da constitu-
ição fundamental do reino”440 . Os primeiros são definidos, a
partir da própria ideia de majestade ou soberania (ib. 25),
pelo direito público universal ou pelo direito público consti-
tucional (i. e., pela constituição fundamental do reino). Os
segundos, que decorrem do “direito público puramente ci-
vil”, englobam “os direitos feudais, fiscais e tributários que se
deviam aos príncipes, não tanto em razão da majestade, que
por sua mesma natureza necessariamente os exigisse, como
de senhorio feudal” (ibid., 7). “Os direitos majestáticos – acres-
centa – são os que emanam da mesma natureza da socieda-
de civil e são necessários, íntimos e essenciais à soberania e,
como tais, perpétuos e invariáveis. Pelo contrário entre os
439 Antes era costume dizer que eram dos povos.
440 Santos 1844, p. 8.
301
livro_antonio_m_espanha.p65 301 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
direitos reais ha muitos, que são direitos, pelo assim dizer,
adventicios, temporarios e variaveis” (ib., 7). A confusão en-
tre um e outro tipo de regalia era normal nos tratadistas ante-
riores (Santos 1844, 8/9), justamente porque lhes faltava esta
nova noção da unidade do poder, de que agora arranca a
clareza da distinção441 .
Se os direitos reais decorrem da majestade, já se enten-
de que, uns, nunca possam ser separados da pessoa do
rei(14); e que, outros, se presumam na sua titularidade, salvo
concessão expressa442 . E que, todos, ainda que concedidos,
nunca saiam, essencialmente, da esfera de prerrogativas do
soberano. É o que explica Pascoal de Melo nas lnstitutiones:
“A jurisdição não é própria dos senhores, que apenas a têm
do rei; nisto se distinguem essencialmente as jurisdições ré-
gia e feudal (Heineccius, Elementa juris germanici, III, 1). Da-
qui decorre que a jurisdição apenas se possa exercer em nome
do rei e de acordo com o seu arbítrio e de tal modo que ele a
possa limitar ou revogar [...]” (1789, II,3,39 nota) (15),443 Por
outro lado, defende-se agora, contra a doutrina anterior444 ,
441 Também Pascoal de Melo os definia correspondentemente no titulo respectivo
do Projecto do Novo C6digo: “Ao soberano poder e majestade, que recebemos de
Deos todo-poderoso, de reger e governar nossos reinos e estados, estão ineren-
tes certos direitos reaes ou magistérios, necessarios para procurar e manter a
felicidade e segurança publica dos mesmos reinos, estados e vassalo deles ...”
(Santos 1844, [Dirs. reais] 13). Mas, como nota Ribeiro dos Santos, não deixa
de sucumbir perante a confusão comum aos tratadistas anteriores entre direi-
tos reais “naturais” e direitos reais “positivos”.
442 Pascoal de Melo, 1789, II, 2, 42.
443 No mesmo sentido, v. também Sampaio, 1793, III, t. 45, § 169 e nota b.
444 Pascoal de Melo, 1789, II, 3,41 nota, p. 64, in fine, abona-se em Jorge de Cabedo
1601, (II, dec. 38, max., n. 6); mas esta decisão refere-se a uma coisa diferente
– a inalienabilidade, por doação ou contrato, de uma regalia majora, a correição.
302
livro_antonio_m_espanha.p65 302 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
que o rei pode sempre revogar as concessões destes poderes,
mesmo feitas por contrato, pois o regime da irrevogabilidade
contratual de direito comum não vigora quando os contratos
têm por objecto direitos públicos e da coroa do reino.
4.3.5 Donatários e senhores
Temos, portanto, que na categoria geral de donatários
da coroa, cabiam situações diversas, nem todas subsumíveis
na situação de senhorio. Assim, podia haver:
(i) pessoas a quem o rei tinha concedido, em propriedade,
bens não incluídos nos bens da coroa (reguengos, lezírias,
sesmarias, morgados, capelas); eram proprietários ple-
nos (ou alodiais), podendo livremente transmitir a ou-
trem, inter vivos ou mortis causa, o domínio pleno ou do-
mínio útil destes bens;
(ii) pessoas a quem o rei tinha concedido, em enfiteuse, bens
da coroa445 ou não, contra o pagamento de um foro, com
finalidade de exploração agrícola (ad habitandum ou ad
excolendum)(16); tratava-se de situações enfitêuticas nor-
mais, reguladas pelo direito comum e não pela Lei Men-
tal (cf. Ord.fil., II, 35, 7);
(iii) donatários, não enfitêuticos, de bens da coroa (tais como
foros e outras rendas perpétuas, direitos de foral, mono-
445 Estes bens são da coroa, mas não estão sujeitos ao regime especial de inaliena-
bilidade e indivisibilidade prescrito na Lei Mental (cf. Pegas, 1669, XI, c. 28, p. 62).
303
livro_antonio_m_espanha.p65 303 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
pólios, relêgos, barcagens e portagens, tributos, direitos
de padroado); tratava-se, então, de donatários da coroa,
sujeitos ao regime estabelecido na Lei Mental;
(iv) donatários de jurisdições, comportando, nomeadamen-
te, o poder de julgar; tratava-se, aqui sim, de senhorios.
(v) donatários de bens das ordens militares; não sendo bens
da coroa, apesar da incorporação nesta da administra-
ção das ordens militares nos meados do século XVI, dis-
cutia-se, ainda na segunda metade do século XVII, sobre
se estavam sujeitas à Lei Mental(I7); já na segunda meta-
de do século XVIII, entendia-se que as comendas eram
bens da coroa, sujeitos ao regime da Lei Mental (cf. Melo,
Inst. iur. civ., II, 3, 47); por vezes, as comendas continham,
para além de dízimas e terças446 , capitanias de castelos e
jurisdição civil e militar. Neste último caso, podiam ser
consideradas como senhorios.
Como delegados ou vigários do rei, os senhores esta-
vam, por direito comum, subrogados nos seus poderes e di-
reitos. Sempre, todavia, com a limitação de que nunca pode-
riam exercer aqueles direitos reais inseparáveis da pessoa do
rei, a que acima nos referimos (regalia maiora, regalia quae
ossibus proncipis adhaerent). Em todo o caso, o regime portu-
guês dos senhorios continha limitações maiores na aquisição,
446 Referimo-nos, não às terças “dos concelhos”, mas às terças das dizimas
eclesiásticas, concedidas aos reis de Castela e de Portugal pelo Papa (Cabedo,
1601, p. 2, dec. 63).
304
livro_antonio_m_espanha.p65 304 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
exercício e transmissão dos direitos senhoriais. É disto que se
tratará em seguida.
4.4 A constituição dos senhorios
Um dos pontos em que o direito nacional se afasta-
ra do direito comum e mesmo do direito dos reinos vizi-
nhos da Hispania(18) fora o dos títulos de constituição
dos senhorios.
Enquanto que o direito comum, reflectindo o acentua-
do pluralismo político do feudalismo da Europa central-oci-
dental, era muito favorável ao alargamento do poder senho-
rial, o direito português, sobretudo a partir dos fins do sécu-
lo XIV, tendia para uma acentuada parcimónia no que res-
peita aos títulos de constituição de senhorios.
A partir da Lei Mental, o princípio que, como vimos,
vigorava nesta matéria era o de que a aquisição de direitos
reais ou de bens da coroa tinha que ser titulada por um acta
escrito e expresso (doação, sentença, inquirição), princípio
que se fundava no texto das Ordenações (Ord. fil., II, 45, 1/
213/6/9/10/11/34/35/56; II, 27,2)447 .
Este princípio comportava consequências várias.
A primeira dizia respeito à admissibilidade da prescri-
ção como título aquisitivo de prerrogativas político-jurisdicionais.
447 Uma vez que não há variações decisivas nas diversas Ordenações, e como as
Ordenações Filipinas são as que cobrem o período que nos interessa mais
directamente, basearemos a análise subsequente sobretudo nestas últimas.
305
livro_antonio_m_espanha.p65 305 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
A opinião dominante na doutrina portuguesa era a
da imprescritibilidade contra a coroa dos direitos reais,
jurisdições e bens da coroa. Neste sentido militaria o texto
expresso da lei(19) (20). O direito próprio afastar-se-ia, deste
modo, do direito comum, segundo o qual as jurisdições e re-
galia podiam, em geral, ser adquiridas por prescrição cente-
nária ou imemorial448 . O panorama doutrinal (e, muito me-
nos, o jurisprudencial) não era, no entanto, líquido. Por um
lado, uma corrente minoritária defendia a prescritibilidade
das jurisdições (mesmo da correição) e direitos reais, embora
requeresse a posse imemorial449 . Por outro lado, há provas
de que as posições “senhorialistas” desta corrente exerciam
forte influência na prática burocrática e jurisprudencial
seiscentista e setecentista: em decisões transcritas por Pegas
relativas a títulos de direitos senhoriais, a posse ou costume
imemoriais são admitidos como título suficiente450 . Mesmo
um procurador da coroa tão cioso da defesa dos direitos e
jurisdições reais como Tomé Pinheiro da Veiga parece ter
admitido a regra de que a posse imemorial supriria a doação
ou sentença como título de jurisdições ou regalias.
A segunda consequência do princípio da doação ex-
pressa é a de que nunca se pode entender que, perante
doações genéricas (como, v.g., “dôo a F. a minha vila de
N .” ou “dôo a minha terra de N. com todos os direitos que
448 Cf.. para o regime do direito comum, Portugal, 1673, 1. 3, c.45.
449 Cf. Pegas, 1669, XII, p. 130; Portugal, 1673, p. II, c. 45 per totum, Valasco,
1588, cons. 141, n. 4 ss.
450 Cf Pegas, 1669, XII, p. 149 ss, 158 ss.
306
livro_antonio_m_espanha.p65 306 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
aí tenha ou possa ter”), aí sejam doados, automaticamen-
te, os direitos reais ou as jurisdições. Solução que, como
se disse, contrariava a doutrina do direito comum clássico
que considerava, quer os direitos reais, quer as jurisdições
como acessórios do território (“a jurisdição adere ao terri-
tório como a neblina ao paúl, iurisdietio cohaeret territorio
sicut nebula super paludem)(21).
A questão não ficava porém resolvida com o referido
princípio, pois se colocava o problema de saber que significa-
do se devia atribuir a uma doação feita nesses termos genéri-
cos (que, diga-se de passagem, eram correntes no formulário
da chancelaria régia). A opinião comum dos juristas portu-
gueses seiscentistas distingue diversas situações, de acordo
com a fórmula utilizada na doação.
Se esta fosse a da “doação de toda a jurisdição, com
mero e misto império”451 , dever-se-iam entender como doa-
dos todos os poderes necessários ao governo da terra (juris-
dição), bem como a dada dos ofícios, pois, nos quadros do
direito comum, isso implicaria a sub-rogação do senhor na
posição jurídico-política do concedente, salvo quanto àque-
451 O sentido das expressões “mero e misto império” foi objecto de intermináveis
discussões, desde o tempo dos glosadores (v. Hespanha 1986a, I, 526). Como
síntese, a opinião comum mais tardia aceita a seguinte distinção: o mero impé-
rio seria o conjunto de competências coercitivas do juiz atinentes à utilidade
pública e que, portanto, ele poderia exercitar motu proprio, nomeadamente, as
suas atribuições penais (potestas gladii [...] in animdvertendum facinorosos homines
“poder de gládio [...] para atemorizar os criminosos”); o misto império, as
competências coercitivas do juiz dirigidas à consecução de uma utilidade
particular; a jurisdição simples, o conjunto de competências meramente
jurisdicionais (i. e., não coercivas), visando a utilidade das partes.
307
livro_antonio_m_espanha.p65 307 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
les poderes que fossem inerentes ao soberano, como atribu-
tos do seu poder supremo ou regalia maiora (nas quais se in-
cluía, nomeadamente, a correição e o conhecimento definiti-
vo das apelações e agravos).
Se a fórmula utilizada na doação fosse a da doação da
jurisdição, a doutrina entendia, de acordo com os dados das
Ordenações (I, 65; II, 45), que fora doada a jurisdição para co-
nhecer das apelações vindas das justiças da terra, quer em
matéria cível, quer em matéria crime. A solução do direito
português – que concordava com o direito castelhano, mas
não com o direito comum, em que a concessão da jurisdição
conferiria poderes para julgar em primeira instância, dando
apelação para o príncipe – baseava-se no facto de a concessão
da jurisdição não poder prejudicar a autonomia jurisdicional
das terras, reconhecida, como vimos, pelo direito(22).
No caso de doação genérica dos direitos reais, a doutri-
na entendia que se considerariam como doados aqueles di-
reitos (contidos na carta de foral da terra) que os reis normal-
mente concediam de forma genérica (mas não os que
rarissimamente eram concedidos por essa forma). O que re-
metia para uma interpretação das doações de acordo com o
estilo da chancelaria e dava origem a uma detalhada
casuística nos referiremos(23).
Em conclusão, a despeito de todas as prevenções le-
gais contra o reconhecimento dos direitos senhoriais sem
título constitutivo formal (doação, sentença, inquirição), a
doutrina dominante abria a porta à legitimação de situa-
308
livro_antonio_m_espanha.p65 308 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
ções tituladas de forma menos rigorosa. Por um lado, en-
quanto admitia a eficácia da prescrição imemorial como pro-
va do título; depois, enquanto abria mão do princípio de que
as doações de jurisdições ou de direitos reais deviam ser
expressas, admitindo a sua concessão por fórmulas genéri-
cas, que alguns dos autores tendiam a interpretar de forma
bastante generosa.
4.5 Conteúdo das doações
A determinação do conteúdo das doações decorre já
do que ficou dito na secção anterior. Resta agora, particula-
rizar um pouco mais. Fá-lo-emos, considerando, caso por
caso, as jurisdições ou direitos reais mais importantes ou mais
comummente incluídos nas doações.
Comecemos pelas jurisdições.
Gráfico 2 – p. 191 no original
309
livro_antonio_m_espanha.p65 309 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
4.5.1 Correição
Nos termos da lei (Ord. fil., II, 45, 8/9), a correição não
estava incluída nas doações, a não ser que expressamente
doada. No entanto, não faltam os casos de doação da
correição, quer durante o século XVI, quer durante o século
XVII, quer a senhorios eclesiásticos, quer a senhorios laicos.
A isenção da correição tinha como efeito, pela negativa,
proibir a entrada do corregedor régio nas terras dos donatários
e, pela positiva, sub-rogar o ouvidor senhorial nas funções
desse magistrado real. Assim, no caso de doação da correição,
os ouvidores senhoriais exercitariam todos os poderes dos
corregedores, incluídos os relativos ao conhecimento de feitos
por acção nova ou por via de agravo (Ord. fil., I, 65, 22 ss.).
4.5.2 Apelações
Como já vimos, a jurisdição senhorial é, em Portugal,
uma jurisdição de segunda instância, já que a de primeira
instância pertence às justiças concelhias. O conhecimento dos
recursos das sentenças dos juízes das terras constitui, por-
tanto, a sua manifestação. Mas mesmo quanto aos recursos,
as justiças senhoriais não podiam, salva doação expressa –
que é corrente em relação às principais casas senhoriais –,
conhecer dos agravos; pois estes deviam subir directamente
(“omisso medio”) aos corregedores ou aos desembargadores
dos agravos das Casas da Suplicação ou do Cível (cf. infra)452 .
452 A distinção entre apelação e agravos é, basicamente, a seguinte: as apelações
são recursos quanto à decisão de fundo; os agravos são recursos quanto a
aspectos formais ou de processo.
310
livro_antonio_m_espanha.p65 310 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Das suas decisões, as justiças senhoriais têm que dar
recurso para o tribunal da corte. No caso de o título conter
uma referência expressa à doação das apelações ou dos agra-
vos (normalmente, quando era doada uma coisa, era doada
a outra), o senhor ficava com o poder de conhecer dos agra-
vos e, quanto aos feitos cíveis, eles terminariam no ouvidor,
não havendo possibilidade de recurso para a corte453 .
4.5.3 Jurisdição
Como já se disse, a doação da jurisdição era domina-
da pelo princípio do carácter intermédio da jurisdição se-
nhorial, que ressalvava, para baixo, a jurisdição dos juízes
das terras e, para cima, o direito real de apelação (Ord. fil., II,
45, 50 e III, 71).
A jurisdição senhorial era exercida ou pessoalmente
pelo senhor ou pelos ouvidores senhoriais, providos
trienalmente. Devendo estes residir na terra de que são ouvi-
dores, com jurisdição sobre outras terras do mesmo senhor
num raio de 5 léguas (Ord.fil., II, 45, 32; 41/41). Por vezes, os
senhores obtinham o privilégio de os juízes de fora de terras
próximas serem seus ouvidores, o que os dispensava de pa-
gar a um ouvidor próprio; outras vezes, obtinham licença
para que o seu ouvidor residisse na cidade mais próxima,
onde a facilidade de recrutar pessoa competente era maior.
453 Sobre as dúvidas quanto a este ponto, Hespanba, 1994, III. 5. b).
311
livro_antonio_m_espanha.p65 311 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
4.5.4 Dada das justiças
A dada (apresentação ou confirmação)454 das justiças
das terras (juízes, vereadores e restantes oficiais dos conce-
lhos) não pertencia, em princípio aos senhores, pois os con-
celhos tinham o direito da sua eleição, devendo a confirmação
ser feita pelo corregedor ou pelo Desembargo do Paço (Ord.
fil., II,45,2). Em muitas terras, porém, os senhores tinham o
privilégio, por uso imemorial ou por doação, de fazer, apre-
sentar ou confirmar as justiças.
4.5.5 Dada dos ofícios
Os senhores não podiam, salva doação, dar os ofícios
das suas terras, nem sequer os encarregados de exercer a
justiça senhorial (Ord. fil., II, 45, 3). Isto decorria do carácter
real do direito de criar ou provar os ofícios, que era conside-
rado sinal da suprema dignidade do rei. Tal regra era geral e,
portanto, válida para a criação de juízes de fora (Ord. fil., II,
45, 13), de oficiais da fazenda ou encarregados de conhecer
dos direitos reais (Ord.fil., II, 45, 31), de oficiais da milícia (cf.
A. 19.11.1631, em J.J.A.S.), de meirinhos e alcaides (Ord. fil.,
II, 45, 14) e de tabeliães (Ord.fil., II, 45, 15).
Se a concessão da nomeação dos ofícios de fazenda ou
dos direitos reais era muito rara, a concessão da dos tabeliães
454 São coisas diferentes. A “dada” consiste na nomeação definitiva pelo senhor.
A “apresentação” consiste na proposta de nomeação feita pelo senhor, man-
tendo-se a confirmação pelo corregedor ou Desembargado do Paço. Na “con-
firmação”, mantém-se a escolha (ou “eleição”) pelo concelho, substituindo-se
o senhor ao corregedor ou Desembargo do Paço na ratificação da escolha.
312
livro_antonio_m_espanha.p65 312 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
e ofícios de justiça já era bastante comum. De qualquer modo,
para além de outras limitações, os donatários estavam impe-
didos de vender ou arrendar os ofícios, pelo menos sem li-
cença régia (cf. Ord. fil., I, 95, pr.).
4.5.6 Foros, tributos e direitos reais
Aqui, a regra era a de que a sua doação genérica trespas-
saria para o donatário aqueles foros, direitos e tributos que
estavam contidos no foral, salvo os que o rei não costumava
doar455 . Remetia-se, portanto, para uma interpretação dos ter-
mos genéricos da doação conforme ao estilo da chancelaria, o
que obrigava a uma averiguação casuística dos usos quanto à
doação de cada uma das várias categorias de direitos reais456 .
4.6 Transmissão dos direitos senhoriais
A transmissão dos direitos senhoriais era, como se viu,
regulada pela Lei Mental, que estabelecia a forma de suces-
são nos bens da coroa.
A Lei Mental insere-se, como se viu, numa tradição ju-
rídica europeia, com precedentes próximos no direito das
Partidas e com precedentes longínquos na dogmática do ius
commune. Todas as suas disposições (inalienabilidade,
vinculação, indivisibilidade, sucessão por primogenitura e
varonia) se integram nos modelos clássicos que esta literatu-
455 Cf. Pegas. 1669, XII. ad II, 45,34; Portugal, 1673.1. 3. c. 43, n. 47 ss.; Fragoso,
1641, 1. 3, d. 7, n. 55 ss. (p. 349).
456 Para uma análise detalhada de cada tipo de direitos, v. Hespanha, 1994, III.5.
313
livro_antonio_m_espanha.p65 313 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
ra propôs às conjunturas sociais e políticas europeias desde o
século XII ao século XVIII. Modelos puramente teóricos, cuja
relação com a conjuntura sócio-política era equívoca ou con-
traditória; modelos que, porém, permanecem como “cons-
trangimentos latentes” que sobredeterminam as estratégias
políticas dos vários grupos sociais.
Provavelmente, mais do que a resposta aos problemas
da conjuntura portuguesa da baixa Idade Média, a Lei Men-
tal representa o produto das representações que os juristas –
dominados por esquemas categoriais próprios (e socialmente
aleatórios) – tinham dos problemas sociais do momento e do
modo mais correcto de os resolver.
Como já vimos brevemente, os princípios estabelecidos
pela Lei Mental para a transmissão dos direitos senhoriais
eram vários.
O primeiro era o da primogenitura e masculinidade: a
sucessão deferia-se obrigatoriamente, por linha masculina, ao
filho mais velho do donatário. O que implicava um certo tipo
de indivisibilidade dos bens senhoriais por morte deste(24).
A primogenitura parece expandir-se na área europeia
a partir do século XII, sobretudo nas sucessões nobres. Tem-
se insistido no seu interesse para a conservação do poder das
famílias, maxime das grandes famílias; mas os argumentos
“sociais” não parecem suficientemente trabalhados, pois cer-
tos dos objectivos da primogenitura eram assegurados, tam-
bém, pelo regime da indivisão familiar, de resto tradicional
nos direitos germânicos. Os próprios costumes feudais não
314
livro_antonio_m_espanha.p65 314 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
eram, a este propósito, unânimes. O direito feudal lombardo
consagrava a divisibilidade (Lib.feudorum, I, 8); mas o direito
feudal franco ou siciliano consagravam a indivisibilidade. No
sentido da primogenitura, destaca-se a permanência de cer-
tos tópicos oriundos do discurso jurídico letrado, nomeada-
mente o princípio de que as jurisdições e as dignidades não
se dividem (dignitates et jurisdictiones non dividuntur). Bem
como a sua ilustração mais eminente, a da indivisibilidade
da coroa, bem estabelecida desde cedo e longamente
justificada nas Partidas (II, 15,2).
Em Portugal, o costume de não dividir os castelos e as
honras, ou seja, os bens que importavam o exercício de po-
der é detectável desde os meados do século XIII. Tanto quan-
to se pode saber pelos estudos existentes, em Portugal o princí-
pio da sucessão indivisível e primogenitural desenvolve-se a
partir deste século, sobretudo em dois domínios: (i) o da trans-
missão de bens com jurisdição anexa (exemplos em Barros
1945, VIII, 254-260); a fonte era, decerto, a lei Praeterea, dos
Lib. feud., II, 55, pr./1; (ii) o da transmissão de bens cujas
rendas estão vinculadas a certo objectivo unitário (capela,
hospital). Na segunda metade do século XIV, já é frequente
assegurar a indivisibilidade dos bens da coroa doados, ou
por uma cláusula da doação ou pela sua integração num
morgado (Barros, 1945, VIII, 245, 270/271, 282).
O argumento corrente para justificar o sistema é o da
necessidade de manter o poder das famílias (ib., 267, 279), no
qual se apoiava o próprio poder da coroa (cf. Pegas, 1669, XI,
315
livro_antonio_m_espanha.p65 315 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
pg. 41, n. 2). Parece, no entanto, que este objectivo de evitar a
usura do poder económico se acompanhava de um objectivo
de natureza simbólica. A adopção da indivisibilidade e
primogenitura tinham, antes de mais, o efeito de evocar o sis-
tema linhagístico em uso na sucessão da coroa e das dignida-
des. Por aí se explica, porventura, que a doação de bens pura-
mente patrimoniais (i. e., que não continham jurisdição nem
regalia: reguengos, sesmarias, armazéns, casas, em proprie-
dade) não estivesse sujeita à regra da indivisibilidade. A pro-
gressiva importância dos elementos simbólicos ligados ao es-
quema primogenitural puro leva a que sectores nobiliárquicos
(mas não os juristas) insistam na exclusão da linha transversal
– o que aumentava significativamente o risco biológico da
extinção da estirpe – e na consagração do direito de represen-
tação em favor do neto, filho do primogénito pré-morto, que,
então, afastaria o secundo-génito457 .
Do ponto de vista dos interesses da família, a sucessão
linhagística excluía da sucessão a parentela, nomeadamente
os filhos segundos, enquanto que a masculinidade excluía as
mulheres. As tensões decorrentes desta severa restrição do
universo dos sucessores potenciais foram parcialmente ab-
sorvidas pela generosidade com que o direito reconheceu os
direitos a alimentos e o dote a favor dos filhos e filhas (mes-
mo dos consanguíneos e naturais) excluídos da sucessão
457 A solução vem a ser adoptada por D. João IV – a pedido das cortes de 1641
(cap. 27 da nobreza e 26 do clero); cf. Capítulos gerais, pp. 55, 76 e 81. V.
Hespanha, 1994, III.5.
316
livro_antonio_m_espanha.p65 316 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
(Fragoso, 1641, III, pg. 149, ns. 46). Estes eram compensados
pelo pagamento de uma soma em dinheiro, eventualmente
obtida pelo empenhamento de bens da coroa; por bens
patrimoniais; pela obtenção de ofícios, de títulos ou mesmo
de morgados ou novos lotes de bens da coroa (eventualmen-
te por doação, autorizada pelo rei, de certos bens da coroa já
possuídos); ou, finalmente, pela obtenção de uma situação
confortável na vida militar, eclesiástica ou universitária.
Do ponto de vista da coroa, o reforço do modelo
linhagístico também apresentava riscos, pois fomentava a
constituição de casas muito poderosas, defendidas da usu-
ra das partilhas. Tanto mais que, nos bens da coroa, não
existia preceito paralelo àquele que proibia ou dificultava a
acumulação de morgados (Ord. fil., IV, 100, 5). E, na verda-
de, quase todas as grandes casas senhoriais acabam em con-
flito (e subsequente confisco) com a coroa – Vila Real e ane-
xas (século XVII), Aveiro (século XVIII) ou, no século XV, a
própria casa de Bragança.
A fonte inspiradora do princípio da transmissão dos
bens da coroa por linha masculina pode encontrar-se ou num
texto do Digesto (D., 50, 17,2 – que excluía as mulheres das
magistraturas e ofícios da cidade – ou uma lei dos Libri
feudorum (I, 8) que excluía as filhas da sucessão dos bens feu-
dais, no caso de o contrário não estar convencionado no pac-
to de investidura (cf. ainda II, 9; II, 30; II, 50; IV, 114). Tam-
bém as Partidas excluíam a linha feminina na doação de ter-
ras. A ideia que estava na base desta exclusão era a da inca-
317
livro_antonio_m_espanha.p65 317 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
pacidade das mulheres para a prestação dos serviços (militar
ou de autoridade) que correspondiam à concessão feudal.
A exclusão da linha feminina aumentava extraordina-
riamente o risco biológico [masculinidade]. Daí que pudesse
ter representado uma eficaz medida de retomo dos bens à
coroa, sendo, consequentemente, visto com maus olhos pela
nobreza que, ainda em 1645, tenta sem êxito, obter a sua
revogação. O seu alcance só não foi grande porque, na práti-
ca, a já referida política permissiva em matéria de confirma-
ções lhe introduzia sistemáticas derrogações.
O segundo princípio estabelecido pela Lei Mental era
o da inalienabilidade dos bens da coroa, proibindo as suas
alienações intervivos, salva autorização régia(25). Na práti-
ca, as alienações (nomeadamente, as compras e vendas) eram
frequentes, embora sempre autorizadas pelo rei458 . Com a
proibição das alienações visava-se evitar as doações de
donatários a seus criados e, assim, a constituição de hierar-
quias feudais. O episódio da reacção de D. João I às tentati-
vas do Condestável de doar terras aos que com ele serviam é
sintomática do cuidado posto pelos reis neste ponto.
O terceiro princípio da Lei Mental era o do carácter
não feudal das concessões de bens da coroa (Ord. man., II,
17,2). Com este princípio – sublinhado, como já vimos, pela
literatura da época (cf. supra) – obtinham-se alguns resulta-
dos práticos. O primeiro deles era o de distinguir as obriga-
458 Cf. exemplos em Hespanha, 1994, III.5.
318
livro_antonio_m_espanha.p65 318 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
ções dos donatários das dos feudatários. Na verdade, o servi-
ço feudal tinha um carácter pessoal, mas limitado aos termos
do pacto de enfeudação(26). Em contrapartida, entendia-se
que os serviços dos donatários, embora também de natureza
pessoal, eram ilimitados, consubstanciados numa promessa
genérica de obediência (Ord. man., II, 17, 3). Eles serviriam
enquanto vassalos naturais, sem limitações na guerra defen-
siva e tantum intra vires (apenas até ao limite do que pudes-
sem) na guerra ofensiva459 . O segundo resultado era o de
vincar carácter em princípio temporário da doação de bens
da coroa, contra o carácter petpétuo da enfeudação. O ter-
ceiro resultado era o de que em oposição à natureza em prin-
cípio divisível do feudo, só afastada no caso de concessões
que contivessem dignidades ou em que o pacto fixasse o con-
trário, as doações de bens da coroa eram indivisíveis, como
já vimos (Ord. man., II, 12; 14; 25). O quarto resultado, de
acordo, pelo menos, com interpretação dos finais do Antigo
Regime, era de que os poderes dos donatários não eram pró-
prios, mas delegados pelo rei que, por isso, os podia restrin-
gir e retomar460 . Finalmente, a última consequência da dis-
tinção entre feudo e doação régia era a de que os feudos se
459 Pascoal de Melo, cuja obra reflecte a orientação centralizadora e anti-senhorial
dos finais do séc. XVIII, considerem que, sendo as doações de bens da coroa
sempre remuneratórias de serviços, os donatários estavam sempre obrigados a
eles, mesmo em maior medida do que os outros cidadãos (Pascoal de Melo,
1789, II, 3, 28). É esta consideração que leva à criação, na segunda metade do
séc. XVIII, de um imposto de duas décimas sobre as rendas dos bens da coroa
(“quinto dos donatários”).
460 Cf. Pascoal de Melo, 1789, II, 3, 39.
319
livro_antonio_m_espanha.p65 319 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
regulavam pelo direito feudal, contido nos Libri feudorum,
nomeadamente quanto à interpretação e integração das suas
cláusulas, enquanto que as doações régias se regulavam pelo
direito pátrio, legislado ou consuetudinário, embora o direito
feudal vigorasse como direito subsidiário461 .
O principal sentido político-social da discussão sobre a
natureza feudal ou não das doações de bens da coroa parece
ser a da definição das obrigações militares do donatário. O
preceito de Ord. man., II, 17 – “e esto nom sera por ser obri-
gado servir com certas lanças, porque queremos que nom se-
jam avidas por terras feudaes, nem ajam natura de Feudo,
mas ser obrigado a no servir, quando lho nós mandarmos462
– parece ter por fim evitar que os donatários se pudessem
desobrigar do serviço, invocando a falta de cláusula de servi-
ço ou a insuficiência dos rendimentos dos bens doados para
o prestar. Em todo o caso, uma parte da doutrina posterior
interpreta a cláusula legal como querendo excluir o carácter
obrigatório de serviço militar, pelo que este, a ser pedido, te-
ria sempre que ser pago.
O quarto princípio estabelecido pela Lei Mental era
o de que os bens da coroa, mesmo doados, nunca perdiam
essa natureza nem se radicavam no património do
donatário, pelo que as doações careciam de confirmação
periódica. Mais do que possibilitar uma reapreciação da opor-
461 V. Pascoal de Melo, ibid..
462 A fonte é a C.R. de 8.4.1434 (Monumento henricina, v. 9 ss.).
320
livro_antonio_m_espanha.p65 320 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
tunidade da doação feita, a confirmação tinha como objectivo
verificar os requisitos da sucessão e provocar o reconheci-
mento pelo donatário da autoridade real. Na verdade, cedo
se consagrou a opinião – feita equivaler pela doutrina a um
dever deontológico do rei ou mesmo a um costume do reino –
de que o rei devia confirmar as doações dos seus antecessores.
Na segunda e terceira dinastias (e mesmo nos primei-
ros reinados da quarta), a política de confirmações das doa-
ções de bens da coroa foi muito liberal. De facto, não só é
muito frequente a concessão do privilégio de indicação de
sucessor fora dos limites impostos pela Lei Mental (“carta
para tirar as suas doações fora da Lei Mental”)463 , como é
praxe invariável, quando os donatários morriam sem suces-
sor válido à face da lei, confumarem-se os seus senhorios em
parentes, por vezes um tanto longínquos. Desde o século XV,
que os casos de revogação de doações se justificam sempre
por faltas muito graves aos deveres do donatário, nomeada-
mente por traição464 . Durante os séculos XVI e XVII, a con-
firmação régia verifica-se na esmagadora maioria dos casos,
mesmo em situações de extrema tensão política, como foram
a crise de 1580 e a Restauração465 . De resto, um dos artigos
das capitulações de Tomar dava uma garantia de princípio
aos donatários em relação à confirmação dos bens da coroa,
463 Sentido desta dispensa, Pascoal de Melo, 1789, n, 3, 30.
464 V. exemplos em Hespanha, 1994, III.5. Regime da reversão à coroa, Pascoal
de Melo, 1789, II, 3, 31.
465 V.ibid.
321
livro_antonio_m_espanha.p65 321 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
mesmo quando faltassem sucessores legítimos à face da Lei
Mental; embora, mais tarde (pela lei de 12.1.1587, na Collecção
chronologica de ... leis ... delrey D. Sebastião, Coimbra 1819), o
rei tenha restringido o alcance dessa garantia.
Tudo isto confirma a asserção doutrinal de que havia
no reino o costume de os reis manterem as doações feitas
pelos seus antecessores(27). Nas cortes de 1641, a nobreza e
clero pretendem transformar esta prática liberal em lei (cf.
caps. 28 da nobreza e 16 do clero). Mas o rei, reconhecendo
embora a justeza do princípio da conservação das casas no-
bres, responde de forma evasiva. Na segunda metade do sé-
culo XVIII, esta doutrina sobre as confirmações levou uma
volta completa, no sentido de as tomar livres e absolutamen-
te dependentes da vontade do rei, como supremo juiz dos
méritos e serviços dos donatários466 .
O regime da confirmação era diferente, consoante o
donatário tivesse tido os bens doados “em sua vida somente”
ou “de juro e herdade”. No primeiro caso, entendia a doutri-
na dominante que, morto o donatário, a doação não apro-
veitava ao seu herdeiro por se tratar de uma concessio perso-
nalis. Pelo que a graça a impetrar por este era, não a confir-
mação da anterior doação, mas a concessão de uma nova
doação. Aparte estas confirmações por sucessão, D. João II467
a introduzira o costume das confirmações de rei a rei, de acor-
466 Cf. Pascoal de Melo, 1789, II, 3, 31 ss.
467 Nas cortes de Évora de 1481, Garda de Resende, Chronica ..., cap. 29.
322
livro_antonio_m_espanha.p65 322 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
do com o qual os donatários deviam pedir a confirmação das
suas doações no início do novo reinado. O fundamento desta
forma de confirmação seria o facto de o rei dever deixar o
reino íntegro ao seu sucessor(28).
Gráfico 3 – p. 198 no original
4.7 A política da coroa quanto aos senhorios
Um tópico recorrente nos juristas e politólogos da
baixa Idade Média e da Época Moderna é o do dever do
príncipe de recompensar os serviços dos seus vassalos.
Dever a que corresponderia uma virtude, a da liberalidade,
que distinguiria os príncipes excelentes468 . Isto explica o fun-
468 V., sobre a virtude da liberalidade régia, Hespanha, 1994.
323
livro_antonio_m_espanha.p65 323 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
damental da política régia quanto às doações de bens da co-
roa, bem como às suas confirmações.
A conjuntura política das primeiras décadas do século
XV fora, de resto, propícia à alienação de terras. D. João I e
de D. Afonso V. pressionados pela conjuntura política, alie-
nam uma boa parte do fundo territorial da coroa. D. João I
chega a ter que comprar terras que antes doara a fim de po-
der beneficiar os seus filhos. Nos reinados seguintes, a situa-
ção mantém-se estacionária. Nem são muitas as terras que
regressam à coroa, pois mesmo as das (poucas) casas extin-
tas são doadas de novo; nem se doam de novo terras que
sempre tivessem sido da coroa. Até porque, neste último caso,
estas doações deparavam com a resistência dos povos e dos
concelhos que, muitas vezes, invocaram ou privilégios de se-
rem regalengos ou usos prescritos nesse sentido. Em contra-
partida, não é vulgar entre nós – como o foi, por exemplo,
em Espanha – a venda de senhorios. Os exemplos que se nos
deparam são, por isso, excepcionais. No século XV, surgem-
nos, isso sim, casos de terras doadas como satisfação de dívi-
das da coroa. No século XVII, os Austrias vendem algumas
terras. Depois da Restauração, a ideia de realizar dinheiro
com a venda de senhorios não se perdeu. Num arbítrio de
1683, o rei é aconselhado a procurar “pessoas que comprem
jurisdições, logares, reguengos, officios, capazes de se pode-
rem vender”. De D. Pedro II, encontramos pelo menos uma
venda de terra. Esta situação de um país em que, como se
verá, apenas cerca de um terço das terras é da coroa fixa-se,
324
livro_antonio_m_espanha.p65 324 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
assim, no decurso do século XV e permanecer praticamente
inalterada – se não considerarmos a incorporação na coroa
da administração das terras das ordens militares, nos mea-
dos do século XVI – durante os sécs. XVI e XVII. Isto não
obstante a exortação de Filipe II, no seu testamento, aos seus
sucessores no sentido de não alienarem bens da coroa, exor-
tação que era acompanhada pela revogação de todas as do-
ações por ele feitas; o seu sucessor encarregou-se de as reno-
var e de lhes acrescentar algumas. Só na segunda metade do
século XVII, com a subida dos Bragança ao trono, com a perda
para a coroa de algumas casas senhoriais (nomeadamente,
a de Vila Real) e com a criação das Casas do Infantado e das
Rainhas, surgem outros domínios territoriais da família real
que estabelecerão um equilíbrio novo entre o poder territorial
dos dinastas e o poder territorial dos senhores. A integração
do mestrado do Crato na Casa do Infantado, bem como a
extinção, durante o século XVIII, das casas da Feira, de Aveiro
e da Atouguia constituem pontos importantes, embora tar-
dios, deste movimento de redução das terras do reino ao se-
nhorio real, movimento que culminará com a extinção das
jurisdições senhoriais pela lei de 13 de Julho de 1790469 .
469 Sobre a política senhorial da coroa durante o século, XVII e XVIII, v. Hespanha.
1994, III.5; e Monteiro, 1993 (que inclui cartografia dos domínios senhoriais).
325
livro_antonio_m_espanha.p65 325 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Gráfico 3 – p. 200 e 201 no original
4.8 O regime senhorial nos últimos anos do Antigo
Regime
Os juristas portugueses dos finais do Antigo Regime
eram fortemente influenciados pela literatura política, so-
cial e jurídica que, por toda a Europa, preparava profundas
reformas na sociedade e no poder. Ideias-chaves desta lit-
eratura eram a exaltação da unidade do poder (i. e., a cons-
trução do “Estado”) e da generalidade e abstracção do direi-
to e da justiça, no seio de um projecto de racionalização
global dos mecanismos sociais e políticos. Todas as formas
de particularismo político (jurídico ou judiciário), como todos
as manifestações de desigualdade e de “irracionalidade” eram
326
livro_antonio_m_espanha.p65 326 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
odiosas, embora com algumas se tivesse que condescender, para
salvaguardar as formas de governo estabelecidas470 .
O regime senhorial constituiu, para os juristas mais
avançados da época, uma pedra dessas pedras de escânda-
lo. Manuel de Almeida e Sousa (Lobão) (29) introduz um
título das suas Notas a Melo (1814) dedicado aos direitos se-
nhoriais com as seguintes palavras:
Os Grandes do Reino, os Senhores Donatários da terras com
jurisdição, muitas vezes são fáceis em ampliar os seus Direitos,
e terríveis aos seus vassalos, e súbditos, e concorrendo com este
espírito a prepotência deles, e de seus obsequiosos Ministros,
todo o Direito arma contra eles a sua presunção para se julgar
extorquido dos súbditos por força, e violência, qualquer Direito
ou tributo de que não mostrem justo título471 .
Era este o espírito, de que também se encontram traços
evidentes em Pascoal de Melo, em Pereira e Sousa, em Coe-
lho Sampaio, que explica a insistência em dois tópicos que, se
não são novos, são pelo menos expressos com um vigor novo.
O primeiro é o da natureza graciosa, precária e
revogável das doações régias e da sua dependência em
relação ao bem público, arbitrariamente avaliado pelo
monarca. Este princípio foi sobretudo invocado na segunda
metade do século XVIII, não tanto para efectivamente revo-
470 Cf., sobre o impacto dos novos ideais, individualistas, contratualistas e
racionalistas e as tensões que provocavam com as instituições estabelecidas,
Hespanha, 1979.
471 II, 3,17 e 18, rubr.
327
livro_antonio_m_espanha.p65 327 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
gar doações, mas antes para justificar o direito da coroa a
extinguir ou reduzir certos direitos seus, mesmo que daí re-
sultasse prejuízo para os donatários. Isto acontece, por exem-
plo, com a lei de 4.2.1773, que extingue direitos de portagem.
Suscitando um donatário, em tribunal, a dúvida se ela teria
lugar mesmo nas terras senhoriais, pelo prejuízo que daí
adviria aos donatários, a Casa da Suplicação determinou,
por assento, que sim, pois os bens da Coroa não perdiam,
pela doação, a sua natureza e “o Principe, doando, não fica
ligado para não poder alterar a doação, quando concorre o
bem comum dos Povos, pois a sua graça é limitada com a
reserva da Alta Superioridade e Real Senhorio, que sem
excepção tem em todos os que vivem no continente dos seus
domínios e debaixo da sua Real Protecção, para poder em
benefício do Estado e utilidade comum dos Vassalos, com a
repulsa de qualquer interesse particular, fazer nova Legisla-
ção que ligue a todos em geral sem excepção” (Ass. de
24.4.1778, Collecção chronologica dos Assentos da Casa da
Suplicação e do Cível, Coimbra, 1817,474)472 -473 .
O segundo tópico era o do carácter limitado dos po-
deres senhoriais, nomeadamente, a sua estrita dependên-
cia dos termos da carta de concessão (Pascoal de Melo, II,
472 A frase provinha do preâmbulo do alvo de 29.9.1768, que limitava os privilé-
gios da Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira, em Guimarães.
473 Em todo o caso, a lei de 19.7.1790, a que nos referiremos, prevê uma repara-
ção pelos prejuízos (“particulares”) causados aos donatários pela extinção da
jurisdição senhorial. O mesmo acontece com os projectos de reforma dos forais,
dos inícios do séc. XIX (cf. Hespanha,1979).
328
livro_antonio_m_espanha.p65 328 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
3, 39). Este princípio é sobretudo afirmado em relação aos
direitos reais contidos nos forais e concedidos aos senhores
por doações genéricas (cf. supra), afirmando enfaticamente
a doutrina que não podiam ser cobrados senão os direitos
expressamente contidos na carta de foral, não excluídos na
carta de doação(30).
Em 19 de Julho de 1790 finalmente, é promulgada a
“celebérrima constituição” sobre os poderes senhoriais. Fun-
dando-se na obscuridade e confusão do regime jurídico dos
senhorios e na necessidade de promover que o exercício da
justiça seja igual e uniforme, esta lei:
a) Abole as isenções de correição, por “prejudiciais aos
donatários e ruinosas aos povos” (art. III) e as respectivas
ouvidorias isentas de correição (a. IV); as anteriores
ouvidorias com privilégio de correição das casas anexas à
Casa Real seriam transformadas em comarcas, postas sob
a autoridade de corregedores nomeados pela Rainha e
pelos Infantes, com a jurisdição geral dos corregedores
(cf. Ord.fil., I, 58) (a. XXII).
b) Abole as restantes ouvidorias (titulares de mera jurisdi-
ção intermédia), estabelecendo um regime geral de apela-
ção para as Relações (a. V e VI); no território das anterio-
res ouvidorias, sendo suficientes, cria comarcas (a. VII).
c) Nos restantes, substitui os ouvidores, “se parecer neces-
sário” (a. VIII), por juízes de fora, “com graduação ou
329
livro_antonio_m_espanha.p65 329 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
sem ela”474 , cabendo a sua apresentação ou consulta aos
donatários (a. XXXVIII); no caso de se manterem os juízes
ordinários, a sua nomeação caberia, em princípio, aos
donatários (a. XXXIX).
d) Extingue os pequenos coutos (a. XL).
e) Anuncia e promove uma reforma territorial, “em benefí-
cio da justiça, e comodidade dos vassalos” (a. IX-XI).
O principal objectivo da lei é, como se diz no seu pre-
âmbulo promover que o exercício da justiça seja igual e uni-
forme, ou, como glosa Pascoal de Melo, “extinguir todos aque-
les privilégios que, inventados com incómodo dos cidadãos,
tomam a administração da justiça difícil e desigual, toman-
do assim todos os cidadãos em geral iguais e sujeitos, nesta
parte, ao direito comum”475 .
A consecução deste desiderato – típico do novo pathos
universalizante e racionalizante do pensamento político e ju-
rídico iluminista – traduzia-se, fundamentalmente, na aboli-
ção da justiça (em segunda instância) dos donatários, deven-
do, daqui para o futuro, todos os recursos dos juízes das ter-
ras, serem uniformemente dirigidos às relações do distrito(31).
Além disto, uniformizava-se ainda – qualquer que fosse o titu-
lar do direito de nomear ou apresentar “consultar”) os
474 A “graduação. era a distinção de diversas categorias de magistrados régios:
correição de primeiro banco, correição ordinária, juiz de cabeça de comarca,
juiz de primeira entrância, cf. a. XXXII-XXXIV, XXXVIII.
475 Pascoal de Melo, 1789, II, 3,61.
330
livro_antonio_m_espanha.p65 330 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
corregedores, juízes de fora ou juízes ordinários criados em
substituição dos antigos ouvidores – o estatuto (condições de
provimento, atribuições) de toda a magistratura, independen-
temente da qualidade real ou senhorial das terras. Sendo a
jurisdição dos donatários, em Portugal, uma jurisdição de re-
curso, bem se pode dizer que a lei de 1790 põe fim a ela(32).
Têm-se dividido as opiniões sobre a importância desta lei476 .
Do ponto de vista da política do direito e da justi-
ça 477
, ela tem uma importância central, constituindo a mani-
festação legislativa sistemática do princípio, tão destacado
pelo pensamento político iluminista, de que a administra-
ção de toda a justiça478 era inseparável da pessoa do rei,
devendo ser, além disso, igualmente aplicada a todos os ci-
dadãos, sob a égide do direito, do processo e da ordem judi-
ciária comuns479 . Escrevendo por esta altura(33), Francisco
de Sousa Sampaio afirma enfaticamente que “Uma das par-
tes integrantes do Sumo Império é a judiciária (p. II, §61) [...]
não pode por consequência separar-se esta parte judiciária
da pessoa do monarca sem alteração na forma da Monar-
quia [...]” (Sampaio, 1793, III, §69, nota b). Daí que Pascoal
476 V., por último, Monteiro, 1993, no sentido de desvalorizar a sua importância
prática.
477 E mesmo, lendo em conta a centralidade destes temas no pensamento político
da época, do imaginário político em geral
478 E não somente a justiça soprema, por via de recurso ordinário ou extraordiná-
rio, como antes se defendia, nos quadros da teoria corporativa da sociedade e
do poder.
479 Persistem diversas limitações a este principio, pois se mantém, até ao fim do
Antigo Regime, jurisdições especiais (do clero, dos estrangeiros, dos
militares,etc.).
331
livro_antonio_m_espanha.p65 331 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
de Melo apelide a lei de 1790 de “celebérrima constituição”.
Do ponto de vista estritamente jurídico (ou seja, in-
dependentemente das modalidades da sua aplicação práti-
ca), a substituição dos ouvidores por corregedores ou por
juízes de fora também não era banal, pois além de pôr ter-
mo, como vimos, à jurisdição senhorial, entregava a justi-
ça a um magistrado estatutariamente independente do se-
nhor (ainda que apresentado por este), enquanto que o
ouvidor era um oficial senhorial, dispondo de competência
apenas delegada e, por isso, avocável pelo senhor (cf. Ord.
fil., II, 52: o senhor pode conhecer pessoalmente das causas,
mesmo tendo ouvidor).
O que não se sabe ainda exactamente é qual o relevo
prático, nos finais do século XVIII, do exercício das jurisdi-
ções senhoriais. Se, como ultimamente foi plausivelmente
defendido (Monteiro, 1993), a jurisdição senhorial integrava
um conjunto de dispositivos de domínio político das terras
que facilitavam, nomeadamente, a aquisição e consolidação
de direitos de natureza patrimonial, não seria facto de some-
nos a sua abolição. Mas só o estudo detalhado da grande
massa documental produzida na sequência desta lei – tanto
sobre os aspectos de reforma territorial como sobre as ques-
tões jurisdicionais provocadas pela sua entrada em vigor –
poderá fazer luz sobre o tema.
332
livro_antonio_m_espanha.p65 332 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Bibliografia citada
AMARAL, António Cardoso do, Summa seu praxis judicum, et
advocatorum a saeris canonibus deducta, Ulyssipone 1610 (ed. cons. ecit.
Liber utilissimus ..., Conimbricae 1740 [adições de José Leitão Teles].
BARBOSA, Manuel, Remissiones doctorum ... in l. 1, 2 & 3 Ordinationum
Regiarum, Ulysipone 1618.
CABEDO, Jorge de, Practicarum Observatiunum sive decisiumum,
Ulyssipone, 1601.
CABEDO, Jorge de, De patronatibus ecclesiarum regiae coronae Lusitaniae,
Ulyssipone 1603.
CAETANO, Marcello, História do direito português [1140-1495], Lisboa,
Verbo, 1985.
CASTRO, Gabriel Pereira de, Tractatus de manu regia, Ulysipone, 1622-
1625, 2 vols.
CLAVERO, Bartolomé, Mayorazgo. Propriedade feudal en Castilla, 1369-
1836, Madrid, Siglo XXI, 1974 (nova ed. remodelada, 1989).
CLAVERO, Bartolomé, “Lex regni vicinioris. Indicio de Espana en
Portugal”, in BoI. Fac. Dir. Coimbra, 1983.
FEBO, Be1chior, Decisiones Senarus Regni Lusitaniae, Olyssipone, 1619-
1623, 2 vols. (ult.ª ed. 1760).
FIGUElREDO, José Anastácio de, Synopsis chronologia [...], Lisboa, 1790.
FRAGOSO, Baptista, Regimen reipublicae christianae, Collonia
Allobrogum, 1641-1652,3 vols.
MELO (Freire), José Pascoal, Institutiones iuris civilis luditani, Ulyssipone, 1789.
* GILlSSEN, John, Introdução histórica ao direito, Lisboa, Gulbenkian, 1988.
HESPANHA, Antônio Manuel, “O jurista e o legislador na constru-
ção da propriedade burguesa-liberal em Portuga1”, in Histórias das
instituições. Textos de apoio, Lisboa, polic. 1979 (versão sem notas, An.
soe., 61-62, (1980), pp. 211-236.
* HESPANHA, Antônio Manuel, História das instituições. Épocas medie-
val e moderna, Coimbra, Almedina, 1982.
333
livro_antonio_m_espanha.p65 333 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
HESPANHA, Antônio Manuel, “Représentation dogmatique et projets
de pouvoir. Les outils conceptuels des juristes du ius comrnunedans
le domaine de l’administration”, Wissenschaft und Recht der Verwaltung
seit dem Ancien Régime, 1984, 1-28 (versão castel. em La gracia dei derecho
[...], Madrid, CEC, 1994).
HESPANHA, Antônio Manuel, Poder e instituições no Antigo Regime.
Guia de estudo, Lisboa, Cosmos, 1992a.
* HESPANHA, Antônio Manuel (em co1ab.), “O Antigo Regime”, vo-
lume IV da História de Portugal, dirigi da pelo Prof. José Mattoso, Lis-
boa, Círculo de Leitores, 1993.
HESPANHA, Antônio Manuel, “Une autre administration. La cour
comme paradigme d’organisation des pouvoirs à l’époque modeme”,
Die Anfãnge der Verwaltung der Europ. Gemeinschaft (=Jahrb. f. europ.
Verwaltungsgesch., 4), Baden-Baden, 1992.
HESPANHA, Antônio Manuel, Economia de la Cultura en la Edad Mo-
derna, Madrid, C.E.C., 1993.
HESPANHA, Antônio Manuel, La economia de la gracia (em publ. em
Hespanha, 1994a).
* HESPANHA, Antônio Manuel, As vésperas do Leviathan. Instituições e
poder político. Portugal – século XVII (versão reduzida e actualizada),
Coimbra, Almedina, 1993.
LOBÃO, Manuel de Almeida e Sousa de, Discurso juridico, historico e
critico sobre os direitos dominicaes, e prova d’elles ..., Lisboa, 1819.
LOBÃO, Manuel de Almeida e Sousa de, Discurso sobre a reforma dos
foraes ..., Lisboa, 1825.
MONTEIRO, Nuno Gonçalo, “Revolução liberal e regime senhorial. A
“questão dos forais” na conjuntura vintista”, in Rev. Port. hist. (23),
1988, pp. 143-182.
OLIVEIRA, António de, “A violência do poder dos cavaleiros de S.
João no período filipino”, in Estudos em homenagem ao Prof Vitorino
Magalhães Godinho, Lisboa, 1988, pp. 263-276.
PEGAS, Manuel Alvares, Commentaria ad Ordinationes Regni
Portugalliae, Ulyssipone, 1669-1703, 12 tomos + 2.
334
livro_antonio_m_espanha.p65 334 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
PEREIRA, João Cordeiro, “A renda de uma grande casa senhorial de
quinhentos”, in Primeiras jornadas de história moderna, Lisboa, EL. Lis-
boa, 1986, pp. 789-819.
PORTUGAL, Domingos Antunes, Tractatus de donationibus regiis,
U1ysipone, 1673.
REINOSO, Migue1 de, Observationes practicae ..., U1yssipone 1625 (ult.ª
ed.1725).
SAMPAIO, Francisco Coelho de Sousa, Prelecções de direito patrio,
Coimbra 1793, 2 vols.
SANTOS, António Ribeiro dos, “Sobre os tributos”, B.N.L FG 4677,
fi. 75 ss.
SANTOS, António Ribeiro dos, “Notas ao titulo I. Dos direitos reaes”,
in Notas ao plano do Novo Código de direito público de Portugal do Dr.
Pascoal José de Mello, feitas e apresentadas à Junta da Censura e revisão pelo
D.or... em 1789, Coimbra, 1844.
SILBERT, A1bert, “O feudalismo português e a sua abolição”, in Do
Portugal do Antigo Regime ao Portugal do Antigo Regime, Lisboa, Hori-
zonte, 1972.
VALLEJO, Jesús, Ruda equidad, ley consumada [...]. La concepción de la
potestad normativa (1250-1350), Madrid, c.E.e., 1992.
VAZ (ou Valasco), Alvaro, Decisionum, consultatiomum ac
rerumjudicatarum in Regno Lusitaniae, Upysipone, 1588.
VAZ (ou Valasco), Alvaro, Quaestionum iuris emphyteutici, Ulyssipone, 1591.
Bibliografia sugerida – As obras assinaladas com *.
Notas
(1) Sobre a Lei Mental, para além das sínteses de Hespanha, 1982,286 n. 526 e
Caetano 1981, 513 ss., v. Figueiredo 1790, I, 26n, 167 e Ribeiro 1829, 91, 110/
111, Manuel Paulo Merêa, “Génese da “Lei Mental” (algumas notas)”, Bol. Fac.
Dir. Coimhra, 10(1926-1928) 1-15; J. Mattoso, Identificação de um país, Lisboa,
Estampa, 1985, 101. A Lei Mental, com as declarações e interpretações a que
foi sujeita, pode ler-se em Ord. man, II, 17, donde passou, pouco modificada,
para as seguintes (Ord.fil., n, 35). Fontes doutrinais: Manuel da Costa, Tractatus
335
livro_antonio_m_espanha.p65 335 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
circa maioratus, seu concessionem bonorum regiae coronae, Conimbricae, 1569; Por-
tugal, 1673; Pegas, 1669, tomos X e XI, Pascoal de Melo, 1789, tom. II. Exem-
plos textuais, Gilissen, 1988, 193 ss.
(2) Potestas de publico introducta cum necessitate iurisdicendi, & aequitatis statuendae
[tanquam publica persona]. É a definição da Glosa, com um inciso ulterior de
Bártolo. Para Portugal, V., V.g., a definição estreitamente inspirada nesta, de
Domingos Antunes Portugal (portugal, 1673,1. 3, c. 44, n. 12). Sobre a evolu-
ção conceitual e divisões, cf., agora, Jesús Vallejo, Ruda equidad, ley consuma-
da. Concepción de la potestad normativa (1250-1350), Madrid, C.E.C., 1992,
maxime, 35-100.
(3) Cf., sobre a diferença entre rei e senhor e a explicação de porque é que os reis de
Portugal se intitulavam apenas “senhores” da Guiné, João de Barros, Décadas
..., I, liv. 6, cap. L
(4) Para uma detalhada explicação do conteúdo deste título, cf., por todos, o
respectivo comentário de Manuel Alvares Pegas (Pegas, 1669, IX, 1 ss.); tam-
bém Portugal, 1673,1. 3, c. 42; Cabedo, 1601, II, dec. 42 ss.).
(5) Caso típico é o das capelas ou morgados a que faltasse sucessor dentro da
ordem de sucessão definida pelo instituidor (Cabedo, 1601, II, 51, n. 3).
(6) Destes direitos, os juristas distinguiam entre direitos reais reservados ao príncipe
e aqueles que ele podia transferir para outrem. Entre os primeiros contavam-se
os sinais de supremo poder, como a feitura de leis gerais, a reunião de cortes, a
criação de magistraturas, a justiça suprema (nomeadamente a revisão de sen-
tença ou a justiça em última instância), o uso do poder extraordinário (potestas
extraordinaria) e a concessão de medidas de graça. Embora alguns autores, na
sequência da doutrina feudalisante do direito comum, entendessem que o rei
podia conceder estes direitos a vassalos, desde que o não fizesse perpetuamente
(cf. Cabedo, 1601, p. 2, dec. 66), mais comum era opinião no sentido da sua
inseparabilidade da pessoa do príncipe, “a cujos ossos adeririam”.
(7) Cf., para Portugal, Cabedo, 1601, n, dec. 42; Portugal, 1673,1.2, C. 4; 1.3, c. 43,
I ss.; Pegas, 1669 (este vo1. X, de facto, 1689), X, p. 13; XI, p. 2; Pascoal de
Melo, 1798a, 1,4,1 ss.; Sampaio, 1793, III, 83.
(8) Conforme diz, esta distinção inspirava-se nas Siete Partidas, II, 17, 1.
(9) Pondera que “hoje os príncipes não costumam ter erários distintos e todas as
rendas se recolhem juntamente [...], não se devendo estabelecer nenhuma dife-
rença entre o erário público e o privado [...] esquecido o nome de erário, se lhe
substitui o de fisco, que entre nós e os castelhanos se diz câmara real [...]”
(Ibid., 1. 3, c. 43, n. 6). “Quanto ao foro – escreve também M.A. Pegas (Pegas
1669, X, p. 14, n. 2) – nada interessa se o património do príncipe é privado ou
público, nem mesmo quanto à possibilidade de ser protegido pelo Juiz dos
Feitos da Coroa”.
(l0) “Enquanto que o príncipe pode usar e abusar livremente das coisas que
pertencem ao seu património privado, aliená-las livremente [...] e transmiti-las
aos herdeiros, ainda que não sucedam no principado [...], já aquelas coisas que
não são do príncipe, mas da majestade ou coroa, não transitam para os herdei-
ros e ficam sempre no império e principado, sendo apenas devidas aos que
sucedem no reino” (ibid., ns. 7-8).
(11) Sobre a incorporação, cf. Ord. fil., II, 36; Portugal, 1673, n. 94; Pegas, 1669, X,
p. 16, n. 8; Ord. fil., II, 46; II, 35, 22.
336
livro_antonio_m_espanha.p65 336 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
(l2) Jorge de Cabedo já se deparara com este problema de os reguengos poderem
ser divididos. Mas considera de problemática legalidade – em face dos precei-
tos das Ordenações (Ord. fil., II, 35, 17-18) – uma sentença recente que o
admitia (Cabedo, 1601, n, dec. 27, n. 5).
(13) Pegas, 1669, X, p. 14, ns. 1-2. No tomo anterior, Pegas complica um pouco as
coisas, justamente em face da necessidade de encontrar um lugar adequado
para certos bens que nem eram puramente privados, nem bens da coroa, no
sentido da Lei Mental: “Do património público do príncipe fazem parte várias
espécies: bens fiscais, bens pertencentes ao príncipe em reconhecimento e sinal
de suprema dignidade, como os tributos e censos, os bens da coroa e os
reguengos” (Pegas, 1669, IX, ad II, 30, rubr, p. 329).
(14) Enumeração das coisas que não podem ser doadas nem mesmo expressamente,
em Melo, 1789, (n,3,40, seguindo um critério casuístico e de raiz legislativa que
Ribeiro dos Santos, coerentemente, rejeita (Santos, 1844, [Direitos reais], 21 ss.).
(15) E continua (dando uma nova interpretação à distinção entre concessões de
bens da coroa e concessões feudais: “por isso as palavras meri et mixti imperio,
do direito romano, e altae et bassae iurisdictionis, do direito feudal, que se encon-
tram sobretudo, devem ser interpretadas segundo o espírito da nossa lei, e não
significam hoje outra coisa senão a doação da simples jurisdição”, Melo, 1789,
n, 3, 39 nota. Sobre isto, cf. também Sampaio, 1793, III, t. 45, § 169 e nota b.
(16) Pegas, 1669, VIII, ad n,1,16; X, ad n,35, rubr., c. 4 (p. 12 ss.; X, ad n,35, rubr.,
c. 39 (p. 301 ss.), max. ns. 32 e 54; X, c. 41, p. 322 ss.; Xl, c. 29, p. 62; Portugal,
1673, p. 2, c. 43, ns. 24 ss.
(17) Pegas, 1669, X, ad. n,35, rubr., c. 41, ns. 33 ss. (pg. 333). Também, com uma
decisão, Ibid., p. 19.
(18) Quanto ao regime do direito comum acerca dos poderes senhoriais v., por
todos, Portugal, 1673, 1. 3, c. 45. Para um confronto entre o direito castelhano
e o direito português quanto a este tema, v. Clavero, 1983 (cf., também, Cabedo,
1601, p. n, d. 41, n. 7).
(19) Quanto à correição, Ord fil., n, 45, 10 (que negava o valor a qualquer posse,
nova ou antiga, e a qualquer costume, ainda que imemorial); quanto aos direi-
tos reais, Ord. fil., n, 45, 34/35 (que condenavam e invalidavam para efeito de
usucapião qualquer posse de cobrar direitos para além do foral e sentença); e,
em geral, Ord. fil., n, 45, 55/56 (que estabelecia a irrelevância de qualquer
posse, uso ou costume contrário à letra da ordenação que estabelecia o conteú-
do dos direitos jurisdicionais dos senhores).
(20) Cf., neste sentido, Cabedo, 1601, p. n, d. 9, n. 2; Ibid., d. 12, n. 1 e d. 41 per
totam; Valasco, 1628, q. 8, n. 21 ss.; Barbosa, l618, ad Ord. fil., n, 45, 10; Febo,
1619, p. n, d. 13, per totam; Castro, 1622, p. n, C. 37, n. 12; Fragoso, 1641,1. 3,
d. 7, n. 46 ss.
(21) Para a discussão da questão, v., por todos, Pegas, 1669, t. IX (ad Ord. fil., n,
28, rubr.), n. 77 ss.
(22) V. Pegas, 1669, t. IX (ad n, 28, rubr), n. 82 ss. (p. 306). O princípio de que aos
senhores cabia apenas a jurisdição de recurso fora já estabelecido em Portugal
por uma lei de 1372. V., sobre isto, Hespanha, 1982, cit., 283.
(23) Cf. Pegas 1669, IX (ad n, 28, rubr.), n. 85 ss.; Cabedo, 1601, p. n, d. 12, n. 4.
(24) Note-se, de passo, que existem dois tipos de indivisibilidade do património
familiar. Um deles é o da indivisibilidade que corresponde a um direito global de
337
livro_antonio_m_espanha.p65 337 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
toda a familia sobre os bens (Gesamtvermögen, patrimónios em mão comum), em
que todos os familiares são incluídos globalmente na herança. Um outro é o da
indivisibilidade em que os bens se concentram num dos herdeiros, normalmente
o primogénito e em que os restantes familiares são excluídos da herança. Apesar
de se tratar de dois tipos de devolução sucessória que conduzem à indivisão,
têm significados estruturais opostos (cf. Gilissen, 1988,673 ss.).
(25) Proibição da venda, Ord. man., n, 17,16; Ord. fil., n, 35, 19. Proibidas estavam
também a imposição de censo ou pacto de retro-vender (Pegas 1669, XI, c. 228,
pg. 551) ou o emprazamento perpétuo, nas doações temporárias “enquanto
for nossa mercê”, Ord. man., n, 17,22; Ord. fil., n, 35,20). No entanto, podem-se
vender os frutos (ibid., pg. 548, C. 220) ou arrendar por menos de 10 anos (ibid.,
XI, pg. 556, c. 234), trocar por outros bens da coroa, com autorização do rei
(ibid.) ou empenhar para pagamento de dote ou arras (Ord. man., n, 17, 17;
Ord.fil., n, 35, 20).
(26) O feudo podia ser simplex ou conditionatum, este último incluindo encargos ou
cláusulas modais (moderatio exercitii); outros feudistas distinguem entre o feudum
francum, livre de serviços, e o non francum, obrigado a certo serviço (Baldo 1524,
pg. 4, col. 2, n. 38; pg. 5, col. I, n. 53; Fragoso 1641, III, d. 8, ? v. n. 15); mas os
feudistas propendiam para entender como natural o carácter oneroso da con-
cessão feudal (Giurba 1679, Prael. n, ns. 31, 42 ss.).
(27) Cf. Valasco, 1588, C. 167, n. 5; Cabedo, 1601, p. n, d. I ss. (max., d. 19, 1
ss.); Portugal, 1673, p. 2, c. 7, n. 25; Pegas, 1669, XII, ad n, 45, 12, gl. 14, ns.
4 e 5(p. 167).
(28) Para detalhes, Hespanha, 1994, III.5; doutrina dos finais do séc. XVIII, Pascoal
de Melo, 1789, n, 3, 32 ss.
(29) Trata-se de um jurista tendencialmente conservador, do ponto de vista social
e político, autor de um libreto de defesa das posições senhoriais (Lobão, 1819,
1825; cf. Hespanha, 1979).
(30) Cf., em sentido destoante, Lobão, Discurso, § 84; sobre o tema,
Hespanha, 1979.
(31) Note-se que, no Algarve, funcionava uma Junta de Justiça, para onde se
recorria (cf. D. 15.5.1790, ADS, 605).
(32) Pascoal de Melo não deixa de notar o carácter singular da faculdade genérica de
apurar as pautas e de nomear as justiças atribuídas aos donatários pela nova lei,
por serem contrárias às Ordenações (Ord. fil., n, 45, 2 e 13; l, 66, 30; l, 67).
(33) As suas Preleções ... estão datadas de 1793, mas devem ter sido escritas antes,
pois a lei de 1790 ainda aí não vem referida.
338
livro_antonio_m_espanha.p65 338 11/11/2005, 03:02
5. A COROA
Objectivos da aprendizagem
Quando terminar esta unidade, o aluno deve ser capaz de:
• Identificar as áreas de governo da coroa (justiça,
graça, economia e política) e os modelos de
processamento administrativo ligados a cada uma
delas, bem como o estatuto típico do pessoal políti-
co-administrativo que lhes corresponde;
• Descrever os traços gerais da administração perifé-
rica da coroa, identificando, nomeadamente, as
cadeias hierárquicas, entre as diversas magistratu-
ras e desenhando os respectivos organigramas;
• Compreender que o “crime” é o produto de uma
definição histórica e culturalmente situada;
• Descrever o regime de punição de cada um dos
grandes campos penais, distinguindo os vários cri-
mes que os constituem e identificando o sistema de
valores que lhes subjaz;
• Descrever o modo como a punição e a graça se in-
tegram, completamente, na estratégia de discipli-
na da sociedade de Antigo Regime.
livro_antonio_m_espanha.p65 339 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
5.1 Governo e administração
5.1.1 Introdução
A acção política requer a disponibilidade de meios: fi-
nanceiros, logísticos, institucionais, humanos, para não falar
de outros habitualmente menos notados, como os meios sim-
bólicos (saberes, discursos, iconografias).
O presente capítulo visa justamente averiguar a estru-
tura de uns desses meios os aparelhos administrativos da
coroa, quer da administração central (curial, palatina,
cameral), quer da administração periférica. Nele procurare-
mos distinguir seus os vários ramos, o tipo de actividade po-
lítico-social que levavam a cabo, as suas dependências. Ob-
servaremos, depois, a importância quantitativa de cada ramo
e as principais assimetrias regionais480 . Afinal, procuraremos
fazer um balanço da influência do funcionamento do apare-
lho político-administrativo no desenho do sistema do poder.
Na estrutura político-administrativa dos meados do
século XVII podem ser identificadas quatro grandes áreas:
(i) a administração local;
(ii) a administração senhorial ou corporativa de entidades do-
tadas de alguma autonomia jurisdicional (corporações, hoc sensu
– v. g., Universidades de Coimbra e Évora, Hospital das Caldas,
Celeiros Comuns);
480 Para este efeito, socorremo-nos dos dados averiguados, para os meados do
século XVII, no nosso trabalho As vésperas do Leviathan [...] (Hespanha, 1986,
republicado em 1991, com alterações, Hespanha, 1991), para onde remetemos
o leitor interessado numa descrição mais detalhada.
340
livro_antonio_m_espanha.p65 340 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
(iii) a administração real periférica da justiça ou da fazenda;
(iv) a administração central.
Para além destas, resta um conjunto compósito de re-
partições e ofícios, dos quais destacaremos, pela sua impor-
tância relativa, os encarregados da administração de certos
bens patrimoniais do rei, como os montados e pinhais, as le-
zírias ou paúis e os reguengos. Tendo descrito a área (i) no
capo IV.3 e a área (ii), basicamente, no capo IVA481 , resta-
nos a administração da coroa.
Antes, porém, é útil dizer algo sobre as representações
da época acerca dos âmbitos de exercício do poder da coroa.
5.1.2 Paradigmas de legitimação, áreas de governo, processa-
mento administrativo e agentes da administração
A expressão “administração da coroa” corresponde,
nesta sociedade de poderes concorrentes que é a sociedade
de Antigo Regime, à área de acção do poder do príncipe.
Esta área não é, como veremos, homogénea; mas a sua
organização interna também pouco tem a ver com as siste-
matizações – “por matérias” – que hoje fazemos da actividade
governativa. É certo que, já desde o século XVI, se podem
identificar grandes zonas de actuação dos agentes da coroa
(nomeadamente, a “justiça”, a “fazenda”, a “milícia”). Mas
esta classificação, aparentemente temática, não é mais do que
481 Realmente, apenas ficam de fora os oficiais corporativos, sobre os quais se
pode ver Hespanha, 1986, ou 1991, cap. 2.5 b.
341
livro_antonio_m_espanha.p65 341 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
o resultado de uma tipologia mais funda de actos de gover-
no, que decorre da imagem do rei (das imagens do rei) e das
correspondentes representações sobre a finalidade das suas
atribuições e o modo de as levar a cabo. Estas imagens cons-
tituem, para toda a Época Moderna, uma constante; mas a
sua combinação e hierarquização vão evoluindo, provocan-
do novos entendimentos da actividade governativa da co-
roa, alguns deles com tradução institucional, processual e de
pessoal político. É este complexo imaginário e as tipologias
de organização e processamento administrativos que lhe es-
tão conexas que descreveremos nos parágrafos seguintes.
É sabido, desde a clássica obra de E. Kantorowicz, que,
no rei, coexistem vários corpos. Mas aplicam-se-lhe, também,
várias imagens: a de senhor da justiça e da paz, a de senhor da
graça, a de chefe da casa (de grande ecónomo), protector de reli-
gião, a de cabeça da república e, como tal, de seu racionalizador
e disciplinador. Cada uma destas imagens lhe atribuía certas
funções e lhe garantia certas prerrogativas. Mas cada uma
delas implicava tecnologias próprias de governar:
(i) formas de organização dos aparelhos de governo;
(ii) técnicas de processamento dos assuntos;
(iii) categorias intelectuais de cálculo político;
(iv) perfis de agentes político-administrativos.
Todas as fontes doutrinais medievais e da primeira
época moderna nos falarão da justiça como primeira atri-
buição do rei. Na verdade, e de acordo com a teoria
342
livro_antonio_m_espanha.p65 342 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
corporativa do poder e da sociedade482 , a função suprema
do rei era “fazer justiça” – i. e., garantir os equilíbrios sociais
estabelecidos e tutelados pelo direito –, do que decorreria
automaticamente a paz483 . A justiça era, portanto, não ape-
nas uma das áreas de governo, mas a sua área por excelên-
cia (remota iustitia, regna latrocinia [abandonada a justiça, os
reinos são organizações de ladrões], havia escrito S. Agostinho,
Civ. Dei., 4,4). Tal como no domínio da teoria escolástica das
virtudes ela desempenha um lugar central, também na teo-
ria tradicional do governo a justiça é “a arte das artes e alma
do governo” (Pegas, 1669, I, in proem., gl. 23, n. 2), o primei-
ro cuidado do príncipe, que, para a realizar, deve atribuir a
cada um – república ou particulares – aquilo que lhe é devido
(cf. Fragoso, 1641, I, disco I, § II, n. 18), respeitando, ade-
mais, nessa atribuição, uma particular metodologia organiza-
cional, processual e intelectual que garantisse uma adequa-
da ponderação dos vários pontos de vista.
Esta concepção jurisdicionalista do poder484 não se es-
gotava, no entanto, na composição de conflitos de interesses
(i. e., naquilo que nós hoje identificamos com o “termo justi-
ça”), integrando algumas das prerrogativas que, nos nossos
dias, incluiríamos na “administração activa”. O conceito cha-
ve era, para este efeito, o de merum imperium, em que a doutri-
na do ius commune clássico (séculos XII-XIV)485 incluía as atri-
482 Cf. supra, II.1.
483 Cf. Hespanha, 1994, V. 2; também, Hespanha, 1990, 137.
484 Sobre ela, Hespanha, 1990, 95 ss.
485 V., supra, IVA.
343
livro_antonio_m_espanha.p65 343 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
buições que o juiz exercia oficiosamente tendo em vista a utilitas
publica (“ubicumque concernit et respicit publicam utilitatem”,
Asinio, século XVII). Aqui se incluía, desde logo, o poder de
editar leis (potestas leges ferendi), a punição dos criminosos (ius
gladii), o comando dos exércitos, a expropriação por utilidade
pública e o poder de impor tributos. Com a afirmação pro-
gressiva de outras áreas de governo (nomeadamente, da “po-
lítica”), algumas destas atribuições passam a ser ligadas a ou-
tras imagens do rei e inseridas, portanto, noutros modelos de
acção política. Mas pode dizer-se que, até muito tarde, esta
sua vinculação ao modelo de agir jurisdicional não foi funda-
mentalmente abalada. E isto explica muito do estatuto prático
(nos planos institucional, ideológico e pessoal) destas activi-
dades políticas no Antigo Regime.
Exercer o poder na área da justiça era, essencialmente,
realizar um “juízo” (iustum iudicium), ou seja, levar a cabo um
processo regulado e metódico de decisão, ouvidos todos os inte-
ressados, ponderados todos os argumentos e cumpridos todos
os requisitos de competência e processuais estabelecidos pelo
direito. Neste sentido, iudicium opõe-se a arbitrium, tal como –
no plano das qualidades anímicas que estão no centro da
actividade – a ratio (razão, ponderação) se opõe à voluntas. E,
como o poder é essencialmente fazer justiça, os meios do seu
exercício devem ser, fundamentalmente, iudicia, i. e., juízos
proferidos pelas entidades competentes, de acordo com pro-
cessos estabelecidos, orientados por modelos de raciocínio ade-
quados (rectae rationes) e cultivados, sobretudo, por uma “arte
344
livro_antonio_m_espanha.p65 344 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
de encontrar o equitativo”, a jurisprudentia. Não é, por isso de
admirar que, até muito avançado o século XVIII, e exercício
da política, mesmo da “alta política”, estivesse embaraçado
nos meandros da justiça e fosse coisa, antes de tudo, de juris-
tas. Pois, como escrevia, já na segunda metade do século XVII,
António de Sousa Macedo, “o fim ou objecto da jurisprudencia,
não he so a decisam das demandas, como cuidam os imperi-
tos, mas igualmente o Politico decoro do governo na paz, as
legitimas conveniencias da Republica na guerra, a justa razão
de Estado com os Estrangeiros, a decente soberania com os
Vassalos, e tudo quanto pertence à direcção do Príncipe per-
feito” (Armonia politica ..., 1651).
A área da “justiça” é, assim, a área em que dominam os
órgãos ordinários de governo (“tribunais”, “conselhos”, “ma-
gistrados”, “oficiais”), com competências bem estabelecidas na
lei, obedecendo a um processo regulado de formação da deci-
são, normalmente dominados por juristas que, na resolução
das questões, preferem as razões da justitia e da prudentia aos
arbitria da oportunidade e da conveniência.
Potenciando a justiça está a graça, que consiste na
atribuição de um bem que não competia por justiça, nem
comutativa, nem distributiva (i. e., que não era, por qual-
quer forma, juridicamente devido)486 . Tal como a graça divi-
na não destrói a natureza (antes a aperfeiçoa, S. Tomás,
Summa theol..., I-2, qu. 112 1c.), também a graça régia não
486 Cf., sobre o tema, Hespanha, 1990, 140 ss.
345
livro_antonio_m_espanha.p65 345 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
subverte a justiça (antes a completa). Era o que se passava
com a dispensa do direito (quando, por exemplo, se manda
que não se aplique uma lei a certo caso concreto, quando se
declara maior um menor, quando se perdoa um crime ou,
em geral, quando se pratica qualquer dos actos de dispensa
do direito previstos no regimento do Desembargo do Paço);
pois então o que se está é a realizar uma forma suprema de
justiça, removendo a generalidade da norma em homena-
gem às peculiaridades do caso (cf. S. Tomás, Summa theol, II-
2, qu. 88 10 ad 2; Fragoso, 1641, III, disp. IV, 11,2,32 [p. 418]).
Apesar desta ligação entre a graça e uma ordem objectiva
superior do justo e de tudo o que daqui pode decorrer quan-
to ao carácter não inteiramente gratuito dos actos de graça487 ,
esta é, fundamentalmente, um dom, dependente da liberali-
dade régia, na outorga do qual o rei nem é obrigado a ouvir
senão a sua consciência, nem a obedecer a qualquer formali-
dade ou “figura de juízo”. Pelo contrário, aqui, o sigilo da
decisão é a regra principal, já que as próprias Escrituras reco-
mendavam que não se deixasse que uma mão soubesse das
liberalidades feitas pela outra. A “graça” é, portanto, o mun-
do do governo informal, orientado por deveres de consciência
ou por deveres morais, em que as decisões se tomam no cír-
culo mais íntimo da actividade real (a “câmara”), pela mão
487 Cf. Hespanha, “La economia de la gracia”, publ. em Hespanha, 1993b. Aí se
explica como existe, na economia moral das sociedades de Antigo Regime,
uma “economia da graça” que gera deveres de dar e deveres de retribuir. O que
acaba por ter muita importância para a explicação de mecanismos políticos
práticos, como o regime das “mercês” em Portugal.
346
livro_antonio_m_espanha.p65 346 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
de “escrivães da puridade” ou “secretários”. No caso portu-
guês, algumas matérias “de graça” têm um tratamento mais
autónomo e regulado. É, desde logo, o caso (de fronteira) dos
assuntos de graça em matéria de justiça, que são instruídos
para decisão régia pelo Desembargo do Paço. E do domínio
particularmente sensível de assuntos que envolviam relações
com o poder eclesiástico, cuja decisão é preparada pela Mesa
da Consciência e Ordens. As restantes matérias de graça são
decididas informalmente pelos secretários do rei (secretários
da câmara, mais tarde, secretários de Estado), embora o re-
conhecimento de um direito a mercês (“acção”) tenha pro-
gressivamente aproximado a gestão da liberalidade régia das
tecnologias organizativas da justiça, com a sua consequente
formalização (cf. os vários “regimentos das mercês”, nome-
adamente o de 19.1.1671, JJAS, 186 ss.).
A terceira área de governo era a oeconomia, que
correspondia à imagem do rei como “chefe da casa”, mari-
do da república e pai dos vassalos. A doutrina moderna foi
particularmente expressiva sobre esta proximidade entre go-
vernar a cidade e governar a família488 . A assimilação entre
um e outro ofício era profunda e de sentido não metafórico,
autorizando, nomeadamente, que as regras do governo do-
méstico valessem para o governo da cidade e que a literatura
dirigida ao pai de família (Hausväterliteratur) tivesse, afinal,
uma intenção claramente política.
488 Cf. Hespanha, 1990, 142, e bibl. aí cit., sobretudo os exemplares trabalhos de
Daniela Frigo.
347
livro_antonio_m_espanha.p65 347 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
“A casa dos príncipes – escreve Baptista Fragoso – é a
cidade; a cidade constitui o fim da casa. Por isso é preciso que
aqueles que vão dirigir as coisas públicas se exercitem antes
nas coisas económicas ou domésticas” (Fragoso, 1641,
“Proem.”, 7). O característico deste governo doméstico era o
facto de que, não existindo no interior da família (tal como ela
era entendida então) interesses contrapostos entre si ou
oponíveis aos do interesse familiar, faltava aqui a dualidade
de interesses que caracteriza as matérias de justiça e, por isso,
a decisão decorria de considerações de mera oportunidade. A
gubernatio é, assim, uma expressão geral, aplicável a toda a
actividade decisória que apenas envolve a ponderação de van-
tagens (e não de interesses protegidos), quer se aplique no
âmbito da família (gubernatio filiorum et uxoris), de uma “uni-
versidade” (gubernatio communitatem monialium, por exemplo)
ou da república (gubernatio reipublicae). Podia-se falar, assim,
de uma potestas dominica, sobre a própria família (potestas do-
mestica, maritalis, patria), sobre os servos e escravos (potestas
despotica ou herilis), todas elas decorrentes do poder de admi-
nistração (administratio) do pater sobre a sua própria casa
(potestas oeconomica). De resto, a transladação do conceito de
administratio do plano do governo económico para o plano do
governo político era facilitado pelo aparecimento da palavra,
referida a actividades políticas, em dois títulos do Corpus iuris
(D., 50, 8, De administratione rerum ad civitates pertinentium; C.,
11, 30, De administratione rerum publicarum), bem como pela
confusão entre autoridade e propriedade, entre regnum e
348
livro_antonio_m_espanha.p65 348 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
domus, entre rex e pater, que a episteme política medieval e
moderna colhera dos textos de Aristóteles489 .
No centro deste domínio da actividade do príncipe esta-
vam os actos relativos ao “governo económico” do reino, en-
tendido como rei domesticae guberntio ou dispensatio domus, seu
administratio rei familiaris, quae consistit praesertim in acquisitione,
& conservatione pecuniae (administração da casa, ou das coisas
familiares, a qual consiste principalmente na aquisição e con-
servação do dinheiro). Ou seja, a gestão dos bens e interesses
da coroa. Isto englobava, desde logo, os actos de gestão dos
bens e rendas de que o rei era administrador. Em primeiro
lugar, dos bens e rendas da coroa do reino. Depois, dos bens e
rendas afectados à corte e casa real. Seguidamente, dos bens e
rendas das casas anexas à real, como, em Portugal, a Casa das
Rainhas (na primeira metade do século XVI e depois de 1643),
a Casa do Infantado e a Casa de Bragança (depois de 1654).
Depois, dos bens das ordens, de que o rei é administrador a
partir dos meados do século XVI. E, finalmente, dos bens pró-
prios da coroa, como os reguengos, as matas, as lezírias, etc.,
bem como das capelas do padroado rea1490 . Mas deste go-
verno “económico” – a que com o aproximar do estatalismo
iluminista, se irá chamando cada vez mais “político” – faziam
ainda parte todos os actos necessários à realização do bem
489 Nomeadamente da Economia doméstica – em que, entre as espécies do governo
económico (i.e., da casa [oikos]), se enumeram o governo real, dos delegados do
rei, do Estado de homens livres e do cidadão privado (cf. liv. II, cap. I).
490 Sobre o conceito e âmbito do património régio, V. supra.
349
livro_antonio_m_espanha.p65 349 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
estar geral do reino, nomeadamente, a garantia do seu abaste-
cimento, pelo controlo das importações e exportações, ou a
sua “boa polícia” interior. Manifestação curiosa deste poder
de governo é o que se invoca, nas Ord. fil., II,3, para justificar a
punição pelo rei dos clérigos que o não tivessem sido suficien-
temente pela jurisdição eclesiástica competente: “isto não por
via de jurisdição, nem de juízo, mas por usar bem de suas
cousas, e afastar de si os malfeitores, e que não houvessem
delle sustentação, nem mercê”.
Pertenciam, assim, ao governo económico todas aque-
las decisões que, por se deixarem circunscrever ao âmbito
da casa do príncipe, podiam ser objecto de avaliações de
mera oportunidade. Neste sentido, a transladação para o
plano da república dos princípios e tecnologias de governo
da “casa” constitui uma forma de trânsito da típica admi-
nistração jurisdicionalista das monarquias medievais e pri-
mo-modernas para o governo “político” das monarquias da
última fase do Antigo Regime.
Zona típica da informalidade, a oeconomia é-o também
da reserva e do recato com que as coisas familiares devem ser
tratadas. O critério de decisão é, aqui, o da discricionariedade
de um “prudente pai de família”, ao qual cumpre adequar
livremente os meios disponíveis à busca do sustento e engran-
decimento da casa. “Sustento” e “engrandecimento” devem
ser objectivos sublinhados neste momento, pois com eles se
está a apontar para uma gestão que não se limita a conser-
var, mas a prever, a prover e a promover; isto é, para uma
350
livro_antonio_m_espanha.p65 350 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
administração activa. Coisa que, não sendo novidade ao nível
doméstico ou mesmo da comunidade, o era ao nível do rei-
no. O processamento dos assuntos é o da gestão informal
exercida directamente ou por meio de agentes livremente es-
colhidos e livremente descartáveis (juntas, comissários), agin-
do na discreção da “casa” a coberto do segredo que, também
nos assuntos familiares, deve ser a regra. “Secretários”, “cri-
ados”, “validos”, “intendentes”, “juntas” são, por sua vez,
os suportes desta administração doméstica.
A ideia de que, para além de guardião dos interesses
particulares e de chefe de família, o príncipe incarnava tam-
bém, como sua cabeça, um interesse superior de toda a
república tem uma antiga tradição nas fontes jurídicas. Já
os glosadores tinham aproximado, no dito mnemónico de
“Christus-fiscus”, esta ideia de que, tal como Cristo, cabeça
do corpo místico da Igreja, resumia em si a comunidade
dos fiéis e representava os seus interesses, assim o “fisco”, a
pessoa pública do príncipe, tinha legitimidade para impor
o interesse da república, em termos tais que perante ele ce-
dessem os direitos dos particulares. A tradição jurídica me-
dieval partiu daqui para reconhecer ao príncipe uma
extraordinaria potestas que lhe permitiria derrogar o direito
e violar direitos dos particulares “publica et magna causa
interveniente”. Mas, quando a nova geração de politólogos
em que se inclui N. Maquiavel e J. Bodin, começam a falar
de “razão de Estado” e de “soberania”, isto é, de razões e
poderes próprios da república, essencialmente distintos das
351
livro_antonio_m_espanha.p65 351 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
razões e poderes dos privados, começa a surgir a ideia de
que o governo da polis podia exigir que o príncipe editasse,
ex officio [por sua iniciativa] e figura iudicii non servata [não
observadas as formalidades do juízo], comandos ad
consequendam publicam utilitatem [para realizar a utilidade
pública], livremente avaliada pelo príncipe. Estamos che-
gados ao conceito de governo político e, a curto prazo, ao de
ius publicum, um especial ramo do direito em que, pela pri-
meira vez, o príncipe e os particulares passam a ocupar lu-
gares não equilibrados no iudicium491 .
Não se pode, contudo, dizer que o conceito de governo
político fosse muito popular na literatura moderna peninsu-
lar sobre o governo, sendo conhecida a conta em que eram
tidos os “políticos” e o estilo de governo que eles propugna-
vam492 . Apesar disso, há temas em que a invocação das prer-
rogativas políticas do rei tinha tradição. O primeiro é, decer-
to, o da punição criminal. Outro é o da regia protectio; para
justificar o seu poder de castigar os clérigos, o rei não podia
invocar a sua jurisdição, pois a ela escapavam os eclesiásti-
cos. Daí que seja obrigado a invocar um poder económico,
ou mesmo político (cf., muito impressivamente, Ord. fil., II,
3). Progressivamente, o conceito de governo político vai-se
estendendo e abrangendo, sucessivamente, um domínio mais
vasto. No período iluminista, encontramo-lo já plenamente
desenvolvido. Considera-se, então, que ele engloba todas as
491 Cf. Hespanha, 1990, 144 s.
492 Cf., para Portugal, Albuquerque, 1985, max., 496 ss.
352
livro_antonio_m_espanha.p65 352 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
medidas necessárias à defesa externa e interna do reino (“o
príncipe deve oficiosa e activamente [“pro sua virili parte”]
libertar a cidade dos seus inimigos internos e externos e fazer
em tudo aquilo que julgar necessário, sem que nunca possa
ser compelido a prestar contas disso”, Pascoal de Melo Freire,
1,1,2). Aqui se incluiria – segundo este coriféu do regalismo,
bebido na publicística alemã e austríaca – o ius gladii, a potestas
legislatoria, o ius fisci, o ius circa sacra, o ius asylii, a potestas
circa agriculturam, commercium et res nauticas, o ius militaris.
Mas mesmo neste final do século XVIII, não falta quem reaja
contra esta extensão das prerrogativas régias a título de po-
der camerario, arcano, absoluto (cf. António Ribeiro dos San-
tos, Notas ao plano do Novo Codigo ..., Coimbra 1844,55).
Gráfico 5 – p. 221 no original
353
livro_antonio_m_espanha.p65 353 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Seja como for, os finais do Antigo Regime constituem
uma época em que, claramente, a imagem do príncipe como
caput reipublicae, como pessoa pública, se sobrepõe às restantes.
E em que o governo assume as características de uma activi-
dade dirigida por razões específicas (as razões do Estado), ten-
dente a organizar a sociedade, impondo-lhe uma ordem e de-
fendendo-a do caos originário. Inaugura-se, por outras pala-
vras, uma era de “administração activa”, com quadros
legitimadores, métodos e agentes muito distintos dos da passi-
va administração jurisdicionalista. Agora, o governo legitima-
se, planificando reformas e levando-as a cabo, mesmo contra
os interesses estabelecidos. Carece-se de eficácia e o controlo
sobre os aparelhos administrativos é uma condição para isso.
Daí que a administração deva ser transformada num instru-
mento racional e adequado, liberto de todos os constrangi-
mentos de tipo corporativo. Que os oficiais devam ser
disciplináveis e livremente amovíveis, tal como se enfatiza na
legislação pombalina sobre os ofícios (nomeadamente, a lei de
23.11.1770). Que os procedimentos administrativos não de-
vam ser cogentes para o soberano, e muito menos utilizáveis
pelos particulares para atrasar a acção reformadora (por exem-
plos, por meio de embargos dos actos régios: cf. CR. 2.11.1627,
alvo 16.2.1642, alvo 10.7.1644). Que o segredo (arcana imperii)
e a surpresa sejam um instrumento indispensável de governo.
Esta classificação das matérias de governo permanece
fundamentalmente válida como arrumação intelectual da
actividade político-administrativa até aos finais do Antigo
354
livro_antonio_m_espanha.p65 354 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Regime. Ainda em 1793, Francisco Coelho de Sonsa Sampaio
classifica os tribunais em “de Graça, de Justiça, da Fazenda,
de Economia, e Commercio” (Prelecções de direito patrio, 1793,
I, 191). Há que notar a completa autonomização da fazenda
em relação à economia, explicável pela existência, desde há
muito, de órgãos nela especializados (Vedores da Fazenda e,
depois, Conselho da Fazenda) e o acrescento do “comércio”, por
razões idênticas (Junta do Comércio), a que acresce, aqui, o enor-
me interesse pelo tema, sobretudo num reino que vivia subs-
tancialmente dele, a partir do advento do mercantilismo493 .
Embora, no mesmo autor, já se note a hegemonia da política e
da economia sobre todas as restantes áreas, quando escreve,
numa frase de antologia: “He certo, que todos os Magistrados
são políticos, e Economicos; porque toda a administração da
Justiça se dirige a economisar [!] e civilisar os povos, e promo-
ver a segurança publica [!]” (ibid., I, 191 n. a), pois por “polí-
cia” entende “a auctoridade que os princepes tem para esta-
belecerem e proverem os meios, e subsidios, que facilitem, e
promovão a observancia das suas Leis” (ibid., I, 138) e consi-
dera, consequentemente, que “todos os magistrados ordinári-
os do reino exercem algum ramo da Polícia, e Economia, mes-
mo considerados na particular acepção” (ibid., I, 193).
Claro que, neste contexto, a hierarquia dos actos de go-
verno passa a ser totalmente diferente. A justiça perde, natu-
493 Noutros autores aparece o ramo da milícia, que este não considera por o
julgar fora do âmbito da sua obra (embora, de seguida, enumere os seus
principais órgãos, cf. 198 ss.). É de notar a dificuldade que transparece na
classificação da Mesa da Consciência (cf. 196).
355
livro_antonio_m_espanha.p65 355 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
ralmente a primazia para o “direito legislativo”, a que se se-
guem o “direito inspectivo”, o “direito de polícia”, o “direito
executivo” e o “direito de impor tributos” (cf. índice do vol. I
da mesma obra), numa pirâmide que vai do estabelecimento
abstracto da ordem à sua execução concreta e material494 .
Num plano menos teórico e mais atento à realidade
institucional, a partir desta ideia de que todo é governo políti-
co, uma classificação mais caracterizadamente temática e
institucional passa a impor-se e a explicar, inclusivamente, uma
maior especialização orgânica. Já se notou a autonomização
da “fazenda” em relação à “economia”. O mesmo se passa
com o governo do Ultramar que, depois de andar junto com o
da fazenda, se autonomiza, primeiro e por pouco tempo, em
1604 (a 1606) e, definitivamente em 1642. Também os assun-
tos de Estado – ou seja, fundamentalmente, as relações exter-
nas – se separam dos de justiça, com a criação do Conselho de
Estado, em 1569, e, depois, das respectivas Secretarias495 . O
494 Numa outra obra celebérrima, pouco anterior (Pascoal de Melo, 1789, I), esta
hierarquia já se manifestava, embora as matérias de polícia e de economia não
obtivessem este destaque. A polícia é definida, não como a actividade
complexiva do Estado, mas por uma enumeração das matérias aí incluídas
(económicas, sumptuárias, funéreas, sanitárias, edilícias, criminais, urbanísti-
cas, educativas, de precedência e etiqueta, sobre vadios e mendigos, sobre
colégios e universidades (ibid., I, 170). Significativamente, os oficiais agrupa-
dos neste sector são todos os magistrados locais que, no âmbito da polis tinham
estas atribuições como naturais. A única excepção é o Intendente Geral de
Polícia (criado em 25.6.1760), cujos choques com os magistrados políticos
tradicionais não deixam de ser referidos e lamentados (Ibid., I, 189).
495 Os assuntos de Estado são definidos, no alv. de 29.11.1643, como “contratos,
cazamentos, alianças, instruções, avizos publicos, ou secretos, que se derem a
quaisquer embaixadores, comissarios, agentes, rezidentes, agentes, e quais-
quer poessoas [...] que se despacharem dentro ou fora do Reino, e negócios que
forem da qualidade referida” (ANTT, ms. 2608).
356
livro_antonio_m_espanha.p65 356 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
mesmo se passando com os da Guerra, a partir de 1640. E,
basicamente, é esta a matriz de distribuição da matéria de go-
verno que preside ao elenco das Secretarias de Estado, até ao
fim da monarquia: Reino, Justiça, Fazenda, Guerra, Negócios
Estrangeiros, Marinha e Ultramar.
5.1.3 Administração periférica da coroa
Decisivo para a avaliação dos equilíbrios do aparelho
político-administrativo é, mais do que o estudo dos órgãos
centrais da administração da coroa, o estudo das suas exten-
sões periféricas. Ou seja, dos prolongamentos pelos quais a
coroa entrava em contacto com as estruturas político-admi-
nistrativas locais, nomeadamente concelhias. O que acaba
de ser dito representa uma certa inovação em relação ao tra-
tamento corrente desta questão dos equilíbrios do sistema do
poder, pois não é raro que se considere como sintoma decisi-
vo do crescimento do poder da coroa, o desenvolvimento dos
conselhos e tribunais palatinos, sem curar de avaliar os mei-
os institucionais que estes teriam para, na periferia, conhe-
cer, controlar e dirigir os poderes políticos autónomos.
As intenções de controlo da vida política e administrativa
periférica verificavam-se, fundamentalmente, nos três campos
da actividade político-administrativa dos sistemas de poder da
época moderna: a justiça, a fazenda e a milícia, v. infra.
357
livro_antonio_m_espanha.p65 357 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
5.1.3.1 A justiça
Neste domínio, a administração régia apoia-se sobre dois
tipos de funcionários, os juízes de fora e os corregedores.
Os juízes de fora são, tal como os juízes eleitos, os
magistrados ordinários dos concelhos, tendo, em princípio,
atribuições iguais(1). Porém, dada, sobretudo, a formação
letrada desta magistratura, a doutrina – e a própria lei – esta-
beleciam alguma distinção entre uns e outros496 e dos pa-
drões oficiais e letrados de julgamento. Embora também se
pudesse dizer que, sendo estes juízes nomeados pela coroa,
se instituiriam, deste modo, laços mais apertados de depen-
dência e redes mais eficazes de comando entre os magistra-
dos locais e a administração central. Não sublinharemos no
entanto, este segundo aspecto, pois o estatuto do juiz de fora
é igual, no que respeita à sua autonomia em relação a cadei-
as hierárquicas, ao do juiz ordinário, estando ambos apenas
sujeitos a um controlo indirecto, ou através dos mecanismos
do recurso, ou através da sindicância periódica destinada
apenas a verificar da observância das obrigações impostas
pelo regimento(2),(3). Dir-se-ia, até, que aos juízes de fora é
496 As principais diferenças do regime dos juízes de fora em relação aos juízes
ordinários eleitos são: (i) eram nomeados pelo rei, depois de aprovados no
Desembargo do Paço (leitura de bacharéis: exame pelos desembargadores da
Casa da Suplicação, votação pela mesa do Desembargo do Paço, Reg. Des.
Paço, § 6); (ii) tinham, como adiante se dirá no texto, jurisdição privativa em
relação aos corregedores; (iii) tinham uma maior alçada, Ord. fil., 1,65,617; (iv)
usavam varas brancas, enquanto que os juízes da terra as usavam vermelhas;
(v) não eram inspeccionados pelos corregedores. Sobre esta diferença de regi-
me, V. Pegas, 1669, v. ad 1,65, rubr., n. 26. (p. 5).
358
livro_antonio_m_espanha.p65 358 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
garantida uma maior autonomia do que aos juízes ordinári-
os. Na verdade, algumas das normas das Ordenações sobre o
controlo das justiças locais pelos corregedores, não se aplica-
vam aos juízes de fora, umas por disposição expressa da lei
nesse sentido, outras por entendimento doutrinal pacífico(4).
Por outro lado, entendia a doutrina que os corregedores não
podiam – fora dos casos expressamente previstos na lei497 –
conhecer por acção nova ou avocar as causas das terras em
que houvesse juiz de fora, ao contrário do que acontecia com
as causas dos juízes ordinários(5).
O facto de o juiz de fora ser um oficial de fora da terra,
fazia dele um elemento descomprometido em relação às re-
lações locais de poder e de influência. É justamente isto o que
se quer dizer quando, no discurso oficial, se refere as vanta-
gens que advêm para a administração da justiça e para a
pacificação das terras da existência de um oficial de justiça
forâneo e estranho aos “bandos” locais. E não é raro que o
frequentador das fontes da época, nomeadamente dos livros
de vereações das terras onde havia juízes de fora, encontre
exemplos dos confrontos entre estes e os grupos de pressão
locais. Que o juiz de fora representava, de facto, um elemen-
to perturbador dos arranjos políticos locais, isso parece um
facto. O que já pode, porém, ser problematizado é que a sua
acção revertesse a favor do fortalecimento do poder da co-
497 Feitos em que fossem parte juízes, alcaides, procuradores, tabeliães, fidalgos,
abades, priores ou, em geral, quaisquer pessoas poderosas (Ord. fil., I,58,22).
359
livro_antonio_m_espanha.p65 359 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
roa. Pois em relação a este oficial letrado podem aplicar-se as
conclusões que R. Ajello tirou – na base do seu estudo sobre o
caso napolitano – para o oficialato togado meridional. Ou
seja, a ausência de um controlo efectivo sobre a sua
actividade, quer por parte dos particulares, quer por parte
do poder, dado o carácter fortemente corporativo desse gru-
po de oficiais e o facto de os mecanismos de controlo serem,
eles próprios, movimentados pelos membros do mesmo cor-
po. Como conclusão – sujeita à verificação por meio de estu-
dos monográficos baseados na análise das fontes locais –, dir-
se-ia que mais do que longa mão do poder central, o juiz
togado é um elemento de: enfraquecimento das estruturas
locais que, se joga indirectamente a favor da coroa, reverte
imediatamente a favor do fortalecimento da rede burocráti-
ca de que juízes de fora, corregedores e provedores fazem
parte e que, como veremos ainda, filtra toda a comunicação
entre o centro e a periferia e – pelo menos em tempo de paz –
adquire, assim, o controlo de mais um instrumento funda-
mental de governo – a informação sobre o país.
Seja como for, há uma restrição fundamental ao relevo
que a historiografia tradicional tem dado à criação dos juízes
de fora como factores de centralização, quer ao que acaba de
ser dito quanto ao seu papel de factor de dissolução da vida
jurídica. Tal restrição relaciona-se com o número extrema-
mente reduzido das terras que tinham juiz de fora. Na ver-
dade, a rede dos juízes de fora é absolutamente insuficiente
para que possa ter o impacto centralizador que a historiografia
corrente lhe atribui.
360
livro_antonio_m_espanha.p65 360 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Um outro oficial da administração real periférica era o
corregedor, magistratura criada no século XIV, inicialmente
com jurisdição apenas delegada ou comissarial, abrangendo
os assuntos e a área territorial contida na carta régia de dele-
gação498 . No século XVII, os corregedores constituem já uma
magistratura ordinária, com uma competência contida em
geral nas Ordenações (ou legislação extravagante) e exercen-
do-se sobre um território determinado por providências le-
gais ou por usos bem estabelecidos. São nomeados pelo rei
por períodos trienais499 .
O principal núcleo das atribuições dos corregedores
dizia respeito a matérias de justiça. Neste domínio, competia-
lhes inquirir das justiças locais (mas não dos juízes de fora,
ns. 5 e 34) e dos seus oficiais (n. 2 ss.), defender a jurisidição
real e a ordem pública (n. 11, 15, 18,36 ss.), inspeccionar as
prisões (n. 14), conhecer por acção nova ou avocar os feitos
em que, pelo poder das partes, os juízes se pudessem sentir
coactos (n. 22) (53), avocar os feitos dos juízes ordinários no
raio de duas léguas (n. 23)(6), conhecer dos agravos das de-
cisões interlocutórias das justiças locais (n. 25), devassar so-
bre certos crimes graves (n. 32 ss.), dar cartas de seguro (n.
40), conhecer dos agravos vindos das justiças senhoriais com
fundamento em negação de recurso (Ord.fil., 2,45,28).
498 Sobre a origem e desenvolvimento desta magistratura, Hespanha, 1982,252
ss. e literatura aí citada.
499 Sobre os corregedores: fonte legal – Ord. fil., 1,58, além de outra legislação
extravagante que pode ser encontrada, em geral, em Thomaz, 1843, s.v. “correge-
door”; Pegas, 1669, IV, ad 1,58 (com muitas indicações bibliográficas).
361
livro_antonio_m_espanha.p65 361 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
No domínio político, competia-lhes tutelar em geral o
governo dos concelhos, verificando se as eleições dos juízes e
oficiais dos concelhos se faziam na forma da Ordenação (Ord.
fil., 1,58, n. 4)(7), autorizando fintas (até certa quantia, n.
43), propondo ao rei a reforma de posturas (que, no entanto,
não pode revogar por si, n. 17), tutelando a administração
financeira do concelho (n. 16).
No domínio da polícia, deviam inquirir dos médicos, ci-
rurgiões (Ord. fi!., 1,58, n. 32), de outros oficiais locais (que
não estivessem sujeitos à inspecção dos provedores ou conta-
dores) (n. 34), promover a população (n. 42), curar do estado
das obras públicas da comarca (estradas, pontes, fontes, casas
do concelho, picota, etc., n. 43), promover o plantio de árvores
(n. 46), inspeccionar os castelos (n. 13), vigiar o contrabando
de ouro e prata, bem como de cereais panificáveis (n. 35).
A circunscrição de exercício das competências dos
corregedores eram as comarcas. Algumas das antigas
ouvidorias de ordens militares foram, na prática, trans-
formadas em comarcas com a incorporação da administra-
ção das ordens na coroa. Já nos finais do Antigo Regime, a lei
de 17.7.1790, ao extinguir as ouvidorias senhoriais, dá ori-
gem à criação de uma série de novas comarcas500 – 501
.
O corregedor é, logo a seguir ao provedor e contador, o
oficial mais bem pago da administração real periférica, com
500 Cf. mapas em Silva, 1993, 40; Monteiro, 1993,313.
501 Sobre a graduação das comarcas, v., supra.
362
livro_antonio_m_espanha.p65 362 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
uma renda anual cuja média para todo o país é de cerca de
180000 rs, variando relativamente pouco de comarca para
comarca. Cerca de 60% das suas rendas são constituídas por
salários, o que, em certa medida, dá a ideia da sua depen-
dência em relação à coroa em termos reais.
O carácter genérico das atribuições dos corregedores,
fazia deles os magistrados ordinários da administração
real periférica. A sua competência apenas cedia perante
outros magistrados cuja competência fosse privativa(8). O
facto de os corregedores constituírem a magistratura ordi-
nária ao nível da comarca, faz com que seja em geral neles
que confluam as atribuições da administração real periféri-
ca não previstas nas Ordenações. Não apenas as criadas por
legislação extravagante, mas ainda as providências isola-
das, cometidas caso a caso pelo rei ou pelos tribunais da
corte, nomeadamente pelo Desembargo do Paço, entidade
com quem os corregedores se correspondiam, a montante,
nas matérias de governo. E, assim, apesar da concorrência
dos provedores e contadores, os corregedores desempenham
o papel de “primeiros magistrados das comarcas”, para uti-
lizar uma expressão então corrente.
Note-se, porém, que esta superintência do corregedor
sobre o conjunto da vida político-administrativa da comarca
se exerce, na maior parte dos casos, sob a forma de tutela, e
não sob a de um verdadeiro poder hierárquico. Tanto em
relação à actividade das câmaras, como à dos oficiais cuja
inspecção lhe competia, o corregedor apenas podia verificar
363
livro_antonio_m_espanha.p65 363 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
se ela decorria de acordo com os respectivos regimentos. Mas
não podia, em contrapartida, dar-lhes instruções ou substi-
tuir-se-lhes, salvo nos casos em que isto era permitido por lei
(como, por exemplo, a avocação das causas “dos poderosos”).
Por outro lado, o impacto da acção dos corregedores
fica muito diminuído pelo facto, de este nunca ter abrangido
duas áreas-chave – as finanças e a milícia. Ao contrário do
que aconteceu em França com os intendentes – cuja esfera de
acção abrangia a administração directa (e não apenas de
controlo) em domínios como o recrutamento militar, a admi-
nistração da justiça, a repartição da “taille” e a cobrança de
outros impostos, a regulamentação da agricultura, etc. – os
corregedores portugueses mantiveram-se sempre como uma
magistratura, acantonada sobretudo nos domínios do con-
trolo do funcionamento da justiça e da tutela política dos
concelhos. A razão desta modéstia relativa das funções dos
corregedores parece-me radicar num dado estrutural relaci-
onado com o modelo financeiro português. Enquanto que,
em França, na Prússia e na Áustria, a coroa dependia quase
exclusivamente das receitas internas do reino e tinha, por-
tanto, um interesse vital em organizá-lo e o controlá-lo, em
Portugal o grosso das receitas da coroa vinha do ultramar ou
das alfândegas. As receitas internas, em contrapartida, qua-
se não cresciam desde os meados do século XVI e cada vez
menos importantes no contexto orçamental global. A guerra
da Restauração e a queda, contemporânea, das receitas ex-
ternas podia ter modificado a situação da administração in-
364
livro_antonio_m_espanha.p65 364 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
terna. Só que, em Portugal, o esforço de mobilização dos re-
cursos financeiros e militares internos foi canalizado por no-
vas magistraturas independentes dos corregedores. Na área
fiscal, foram criados os administradores do real d’água e os
tesoureiros das décimas, quaisquer destes isentos da supervi-
são do corregedor e sujeitos aos provedores e à Junta dos
Três Estados. Na área militar, a superintendência regional
veio a caber aos governadores de armas das províncias.
Gráfico 6 – p. 227 no original
Em face do que acaba de ser dito, parece lícito concluir-
se que a eficácia dos corregedores como instrumentos de su-
bordinação político-administrativa do reino era relativamente
modesta, pelo menos em confronto com outras experiências
365
livro_antonio_m_espanha.p65 365 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
europeias de constituição de níveis periféricos da administra-
ção régia. Em contrapartida, é ainda aqui de realçar a impor-
tância que a existência desta guarda avançada da administra-
ção letrada pode ter tido no reforço do papel político da cama-
da burocrática, sobretudo quando – como acontece na segun-
da metade do século XVIII – o poder régio se começa a interes-
sar por um conhecimento mais detalhado do país, preparató-
rio de um seu controlo mais efectivo. Então, os magistrados
que, como corregedores, tinham calcorreado a província, apa-
recem no primeiro plano, como detentores quase exclusivos
de uma informação coro gráfica, económica e política vital para
a transformação da administração do remo.
O corregedor dispunha dos oficiais auxiliares costuma-
dos. Escrivães, contadores, distribuidores e inquiridores (sen-
do estes três ofícios exercidos normalmente em acumulação),
chanceleres, executores, caminheiros, meirinhos e porteiros.
Outro funcionário da administração real periférica –
de difícil classificação nos quadros da tríade de que partimos
(justiça, fazenda, milícia) – era o provedor.
Os provedores – que, normalmente, acumulavam as suas
funções com as de contador – tinham duas grandes áreas de
competência. A primeira era a da tutela dos interesses cujos
titulares não estivessem em condições de os administrar por si
nem controlar a administração que deles fosse feita – defun-
tos, ausentes, órfãos, cativos; mas também o de pessoas
colectivas que, por razões teóricas ou práticas, a eles devessem
366
livro_antonio_m_espanha.p65 366 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
ser equiparados – confrarias, capelas, hospitais, concelhos. A
segunda era constituída pelas matérias de finanças502 .
No domínio dos resíduos, os provedores controlam o
cumprimento das deixas testamentárias no que respeita a le-
gados pios (Ord. fil., I,62,1). Para isso, organizam um rol dos
testamentos (n.º 4), tomam as contas aos testamenteiros (ns.
5, 10, 11), apuram os resíduos dessas deixas, consignando-os
ao resgate dos cativos do bispado (ns. 7 e 9).
No domínio dos órfãos, o provedor superintende sobre
a administração da fazenda dos órfãos e sobre a actividade
dos juízes dos órfãos (n. 28), em relação ao qual tem jurisdi-
ção cumulativa (enquanto estiver na terra) e de quem recebe
os agravos (n. 34), dando apelação para a jurisdição compe-
tente (em princípio, a Relação da área, n. 34).
No campo da curatela dos ausentes, administra os bens
destes e entrega-os a quem os reclamar (n. 38), dando apela-
ção e agravo para a justiça ordinária (ibid.).
No que toca às capelas, hospitais, albergarias e gafarias,
tutela a administração dos que não sejam de fundação ou
administração eclesiástica, nem estejam sob protecção ime-
diata do rei (n. 39 ss.)503 .
502 Fonte legal: Ord. fil., I, 62; as atribuições dos provedores relativas a capelas,
hospitais, albergarias, confrarias, gafarias, obras, terças e resíduos estavam
regulamentadas no reg. manuelino de 27.9.1514 (em R. M. C. Soisa, Systema dos
regimentos reais 1783, I, 37 ss.; sobre este regimento, v. Figueiredo, Synopsis
chronologica, 1790, I, 176 ss.) e na lei de 6.7.1596.
503 Estes últimos tinham eventualmente, jurisdições particulares – tal era o caso
do Hospital de Todos-os-Santos, da Misericórdia de Lisboa, das Capelas de D.
Afonso IV (em Estremoz, Torres Vedras e Vieiros [Aviz]).
367
livro_antonio_m_espanha.p65 367 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
No domínio da fazenda, compete aos provedores:
(i) quanto às contas dos concelhos, verificar os livros de
receitas e despesas dos escrivães e tomar-lhes as con-
tas (ns. 68-72), tomar as terças e entregá-las aos res-
pectivos recebedores (ibid.), cuidar do arrendamento
das rendas reais e da cobrança das que não tenham
sido arrendadas (reg. de 17.10.1516, caps. 60 e 74 ss.),
prover sobre os pagamentos a fazer pelos almoxarifes
(cap. 78), tomar as contas aos almoxarifes e aos rece-
bedores (cap. 81), julgar certas questões relativas ao
arrendamento de rendas reais, dando apelação e
agravo para o Conselho da Fazenda, a quem tam-
bém prestam contas (caps. 85 e 149);
(ii) quanto a obras, prover na reparação das fortifica-
ções (n. 71); lançar fintas para obras em igrejas até
certo montante (n. 77);
(iii) quanto à defesa dos direitos reais, fazer o tombo dos
bens da coroa (reg. de 17.10.1516, caps. 94/95), ave-
riguar da legitimidade dos direitos reais, controlar o
direito a tenças (cf. D. 24.9.1623) e superintender na
cobrança dos reais d’água (reg. 23.1.1643).
Os provedores estavam, assim, integrados numa estru-
tura sectorial da administração real bastante mais especializa-
da do que aquela a que pertenciam os anteriores magistra-
dos, embora o conjunto das suas competências fosse bastan-
368
livro_antonio_m_espanha.p65 368 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
te heteróclito. De qualquer modo, a importância política des-
sas competências era bastante mais reduzida, embora ainda
incluísse zonas como o controlo das contas concelhias.
Os provedores exerciam as suas atribuições em cir-
cunscrições – as provedorias em geral coincidentes com as
comarcas 504 .
Os rendimentos dos provedores são os mais elevados
de entre os oficiais das comarcas, ultrapassando geralmente
os dos corregedores. Cerca de 50% eram constituídos por
salários. Os rendimentos dos escrivães da provedoria são tam-
bém elevados (média, cerca de 80 000 rs.), sendo quase inte-
gralmente de natureza emolumentar, pois a parte salarial
corresponde apenas à retribuição dos processos em que são
parte os resíduos (cf. Ord.fil., I,63,5).
A montante, os provedores correspondiam-se com a
Mesa da Consciência e Ordens, para onde davam apelação
em matéria de defuntos e ausentes (cf. Pr. 2.4.1727); em ma-
téria de resíduos, com o Provedor-Mor das Obras e Resídu-
os, para manifesto das entregas feitas aos mamposteiros dos
cativos, ou com a Casa da Suplicação, para efeito de apela-
ção e agravo das decisões sobre testamentaria (Ord. fil.,
1,62,18/19) e, com esta última, nos feitos de órfãos (cf. Ord.
fil., 1,88,46); com o Desembargo do Paço, em matéria de
supervisão das contas dos concelhos (Ord. fil., 1,62,65) e
com Conselho da Fazenda em assuntos relativos à fazenda
504 V. mapa das provedorias em Monteiro, 1993, 311.
369
livro_antonio_m_espanha.p65 369 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
real (nomeadamente, arrendamento de rendas reais, con-
tas dos almoxarifes, etc.).
A jusante, entravam em contacto com os juízes dos ór-
fãos (Ord. fil., I,62,34/5); com os tabeliães, que, em matéria
de resíduos, lhes deviam fornecer a lista dos testamentos; com
os mamposteiros dos cativos, a quem entregavam as somas
destinadas aos cativos (Ord. fil., I,62,12 e 16); e com os
almoxarifes, sobre matérias de fazenda e de terças dos con-
celhos (Ord. fil., I,62,68).
As relações entre os diversos níveis desta estrutura não
eram, porém, de tipo diferente daquelas que encontrámos no
sector da justiça, pelo que não se pode falar, em rigor, de
relações de hierarquia político-administrativa, mas antes de
relações de tutela, em que o funcionário de escalão superior
se limita a controlar a actividade do de escalão inferior atra-
vés da reapreciação dos seus actos aquando de recurso ou da
inspecção ou residência.
Desta estrutura administrativa faziam parte, além dos
provedores, outros-oficiais. Em primeiro lugar, os oficiais da
provedoria – escrivães (Ord. fil., I,63), chanceleres (Ord. fil.,
I,62,80), porteiros (Ord. fil., I,63). No domínio dos resíduos, o
funcionário principal, ao nível regional, é o mamposteiro dos
cativos, encarregado de arrecadar os bens ou valores consig-
nados ao resgate dos cativos –penas, esmolas, resíduos ou
deixas testamentárias. Nomeado pelo rei através da Mesa da
Consciência e Ordens, dependia desta para efeito de residên-
cia (§§41, 3, 8 do Reg.), e do Corregedor da Corte, para efei-
370
livro_antonio_m_espanha.p65 370 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
tos de recurso (§5 do Reg.). Existia um por bispado, podendo
cada um deles nomear mamposteiros menores nas terras do
bispado (§3)505 (67). Cada mamposteiro dispõe de um escri-
vão próprio (de nomeação régia, §4), de um solicitador ou
procurador (§7 e Ord. fil., I,64), de recebedores e de tesourei-
ros. Existiam ainda depositários dos resíduos, encarregados
de guardar os resíduos arrecadados pelo provedor (v. g., aos
testamenteiros negligentes, Ord. fil., I,62,12), enquanto este
os não entregava ao mamposteiro. No domínio dos órfãos,
existiam os oficiais a que já nos referimos, ao tratar do
oficialato local. Aos oficiais do domínio da fazenda referir-
nos-emos, globalmente, de seguida, pois se trata de um outro
ramo bastante diferenciado desta administração periférica
da coroa, que vimos brevemente descrevendo.
5.1.3.2 A fazenda
A fazenda constitui um domínio bem caracterizado da
administração real periférica. Não apenas pela especificidade
do seu objecto, mas ainda porque, aqui, os laços de depen-
dência são mais apertados, aproximando-se mais do modelo
da hierarquia administrativa em sentido próprio.
Isto acontece, sobretudo, porque a construção dogmá-
tica tradicional do ofício506 não atingira esta zona, sendo aqui
505 A redenção dos cativos era urna obra de misericórdia atribuída à Ordem
da Santíssima Trindade, por quem foi demitida à coroa em 1562 (cf. Alv. de
10.3 desse mesmo ano). Regimento dos mamposteiros de 11.5.1560, Soisa,
1783, v. 486 ss.
506 Sobre o terna, Hespanha, 1994, V. 3.
371
livro_antonio_m_espanha.p65 371 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
os cargos configurados como comissões reais. Uma
consequência deste diferente modelo da construção dogmática
dos ofícios consiste no facto de, nesta área, a inspecção e con-
trolo dos oficiais não obedecer ao modelo da “residência”,
efectuando-se pelos modelos mais efectivos da I “instrução”
e da “prestação de contas”, importados da administração
eclesiástica e mesmo da administração privada ou
dominial(9). Outra consequência diz respeito ao modelo de
retribuição. Embora não tenham desaparecido as rendas
emolumentares, encontram-se aqui oficiais que dependem
quase exclusivamente do salário (v. g., almoxarifes, feitores,
juízes das alfândegas). Já no caso dos escrivães, o sistema
emolumentar mantém-se, como também era de esperar.
Gráfico 7 – p. 231 no original
372
livro_antonio_m_espanha.p65 372 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
O oficial que assegurava a ligação entre a administração
financeira central e a correspondente administração periférica
era o provedor, enquanto contador507 . A ele já nos referimos.
Abaixo dele, como funcionário executivo da fazenda,
estava o almoxarife, cargo que resulta da integração de to-
das as funções de recebimento e pagamento a nível local, antes
do século XV dispersas por almoxarifes particulares de cada
ramo(10). As suas funções são:
(i) receber as rendas dos rendeiros e as quantias entre-
gues aos recebedores das sisas ou dos direitos reais
ou entradas nas “távolas” (repartições de cobrança)
dos vários tributos ou rendas (Reg., caps. 104, 111);
(ii) pagar as despesas inscritas nas suas folhas (tenças,
ordenados dos “filhos da folha”(11), etc.) (cap. 106
ss.), arrecadando 1 % de cada despesa para obras
pias (cap. 206);
(iii) decidir, na falta do contador, dos feitos cíveis e crimes
em que sejam partes os rendeiros (cap. 149), dando
apelação e agravo para o Conselho da Fazenda.
Dentro da administração da fazenda destacava-se,
pela importância da sua rede, a administração alfandegá-
507 Lista das contadorias, em 1516: Santarém, Leiria, Alenquer, Setúbal, Évora,
Beja, Coimbra, Viseu, Guarda, Algarve, Porto, Guimarães, Moncorvo (Reg.
17.10.1516, cap. 34, em Soisa, 1783, I, 24). No século XVII, aparecem, a
mais, as de Viana, Esgueira, Lamego, Pinhel, Castelo Branco, Tomar,
Estremoz e Ourique.
373
livro_antonio_m_espanha.p65 373 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
ria, englobando as alfândegas (marítimas), os portos secos
(alíandegas terrestres) e os portos molhados (alfândegas
fluviais da raia), onde se cobravam, como já se disse, as
dízimas de entrada das mercadorias508 .
O principal oficial das alfândegas é o feitor, que
superintende no serviço de vigilância (fiscal) da fronteira,
auxiliado pelos seus guardas (Reg. de 1688, caps. 2 e 39).
Além deste, existem os juízes, que julgam as causas relati-
vas aos direitos alfandegários e ainda aqueles em que sejam
partes os oficiais da alfândega, dando agravo e apelação
para o provedor da comarca (L. 13.5.1693) ou para o Con-
selho da Fazenda (reg. cit., cap 48). Como oficiais auxilia-
res, existem: os escrivães da alfândega, que escrevem nos
feitos dos respectivos juízes; os escrivães das guias, que
passam as guias que devem acompanhar as mercadorias
cujo despacho não for feito na alfândega de entrada, mas
no lugar de venda (ibid., caps. 14, 18-20); os alcaides das
sacas que, tal como os guardas da alfândega, vigiam o trân-
sito ilegal de mercadorias e o contrabando (“saca”); os
escrivães dos anteriores; os seladores das alfândegas, que
508 No século XVII, era a seguinte a rede aduaneira: Entre Douro e Minho –
Caminha, Vila Nova de Cerveira, Vila do Conde, Esposende, Porto; Trás-os-
Montes – Freixo, Freixeda, Bragança e Vinhais; Beira Litoral e Estremadura –
Aveiro, Buarcos, Peniche e Lisboa; Alentejo Litoral – Setúbal e Sines; Alentejo
interior – Montalvão, Marvão, Castelo de Vi de, Arronches, Alegrete, Alcoutim,
Vila Torpim (onde ?), Serpa, Moura, Elvas, Terena, Mértola e Campo Maior;
Algarve – Lagos, Portimão, Albufeira, Faro, Tavira e Castro Marim. Durante a
guerra da Restauração, os portos secos estiveram inactivos, sendo restaurados
após a paz (cf. novo regimento de 10.9.1668, Soisa, 1783, II, 274 ss).
374
livro_antonio_m_espanha.p65 374 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
selam as mercadorias que pagam direitos de entrada, para
permitir o controlo desse pagamento e evitar a dupla tribu-
tação: os procuradores das alfândegas, que defendem os
interesses do fisco nas causas relativas a direitos aduanei-
ros (esta competência pode também recair no feitor); os
almoxarifes e recebedores, que arrecadam as rendas e
efectuam os pagamentos; os porteiros, meirinhos, etc(12).
Gráfico 8 – p. 233 no original
O resto da administração fiscal e financeira era cons-
tituído por um número relativamente elevado de oficiais
especializados encarregados da cobrança dos vários tribu-
tos. Destacamos, dentre estes, os oficiais das jugadas, tri-
buto em trigo, milho, vinho e linho que recaía sobre certas
terras (“terras jugadeiras” )(13). O aparelho administrativo
375
livro_antonio_m_espanha.p65 375 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
deste ramo era desigual, consoante a importância do tribu-
to nas várias regiões509 .
Uma particularidade destes ofícios é o facto de parte
das suas rendas serem geralmente pagas em géneros, no que
se aproximam dos ofícios de administração dominial da co-
roa (dos paúis, lezírias, montados, etc.), pertencentes a uma
estrutura administrativa mais arcaica, provinda da época em
que as receitas da coroa eram constituídas, principalmente,
por rendas dominiais e em que os modelos administrativos
vigentes na sua arrecadação eram os modelos da adminis-
tração dominial, porventura decalcada na administração
“obedencial” da igreja(14).
Outros oficiais da administração fiscal-financeira são: os
do consulado ou “dos 3%”510 – escrivães, recebedores –, que
aparecem em Lisboa, Caminha, Vila do Conde, Aveiro, Buarcos,
Setúbal, Lagos, Vila Nova de Portimão, Faro e Tavira; os do
direito do sal ou “direito novo”511 – escrivães, feitores, recebe-
dores – que aparecem em Aveiro e Setúbal; os dos milheiros da
sardinha de Setúbal; os do estanco das cartas de jogar (meirinho
– aparece em Santarém); os da moeda – das casas da moeda
de Lisboa e do Porto; os das almadravas; etc.
509 Os ofícios das sisas eram locais (v. supra). Em Lisboa, as sisas eram lançadas
e cobradas nas “casas de Lisboa”, sobre as quais, v. Hespanha, 1994, II 4.2.
510 Sobre o consulado, v. Hespanha, 1994, II.4.
511 Reg. 20.5.1640, Soisa, 1783, v. 655 ss.
376
livro_antonio_m_espanha.p65 376 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
5.1.3.3 A milícia
Sobre a administração militar dependente da coroa já
foi dito o principal. Salvo alguns pequenos núcleos de solda-
dos pagos em pontos nevrálgicos da defesa da costa, ela é
inexistente antes das guerras da Restauração. Com excepção,
é claro, dos alcaides dos castelos (Ord. fil., 1,74); mas, na épo-
ca moderna, as alcaidarias já eram postos mais honoríficos
do que operacionais.
5.1.4 Administração dominial da coroa
Ao lado da administração periférica votada à cobran-
ça dos tributos, a coroa dispunha de outras estruturas admi-
nistrativas votadas à administração dos seus bens dominiais;
ou seja, daqueles bens de que os reis detinham o domínio a
partir do acto original de conquista ou por outro modo de
aquisição (compra, doação, troca, etc.)512 .
Se se destaca este ramo da administração não é tanto
por se querer insistir numa distinção que, ainda nesta época,
é razoavelmente anacrónica – a distinção entre direitos pú-
blicos da coroa e património privado do rei513 – mas porque
o regime destes funcionários tem traços específicos, denotan-
do um maior arcaísmo e uma maior proximidade, até na de-
signação dos oficiais, em relação às formas de administração
512 Sobre o património régio, v. supra, IV.4.
513 Sobre esta questão, v. supra, IV.4.
377
livro_antonio_m_espanha.p65 377 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
do património régio em vigor na idade média. Um traço, en-
tre outros: o da existência frequente de salários em géneros.
Os principais ramos deste sector da administração
dominial são os seguintes.
A administração das lezírias e paúis do Tejo, que cuida-
va do arrendamento das lezírias e paúis reais de Albacetim,
ata, Rio Maior, Ribeira, Asseca, Redinha, Malveira,
Benavente, Muge, Salvaterra e Alcoelha e da polícia das res-
pectivas valas, marachões e tapadas(15). Uma vez que não
eram cultivadas directamente, as lezírias eram repartidas
pelos lavradores que as quisessem arrendar (Reg. das lezírias,
n. 1; Reg. dos paúis, n. 1). Sobre os quais ficavam a impender
certas obrigações, quer quanto ao cultivo, quer quanto à con-
servação das obras de irrigação e de hidráulica, quer ainda
quanto ao aproveitamento de novas terras e juncais (Reg. das
lezírias, ns. 6 ss.; Reg. dos paúis, ns. 3 ss.). A principal oficial
das lezírias era o provedor e contador, que superintendia sobre
o seu arrendamento e polícia (Reg. das lezírias, n. 40). Abaixo
dele, o almoxarife, com funções de tesoureiro, de polícia e de
justiça, competindo-lhe, neste último plano, conhecer de to-
das as causas das lezírias e daquelas em que fossem partes os
seus lavradores que tinham, portanto, privilégio de foro(16).
(Reg. das lezírias, 41). Além destes, outros oficiais menores –
mestres das valas (Reg. das lezírias, n. 50), recebedores (ibid.,
n. 51), guardadores (ibid., n. 54), alcaides (ibid., n. 56), etc.
Importância semelhante têm os oficiais da administra-
ção dos montados de Campo de Ourique, zona de pastagem per-
378
livro_antonio_m_espanha.p65 378 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
tencente à coroa onde vinham pastar os gados do termo e,
ainda, no Inverno, gados das comarcas do interior alentejano
e beirão (v. reg. de 19.1.1699, em J.J.A.S., p. 424). A utilização
dos pastos e da água (além da lenha e mato para os pastores)
obrigava ao pagamento de uma percentagem (normalmente,
1 %; para as varas de porcos, 2%) das cabeças do rebanho
(“monta”). Esta “monta” era feita em data e lugar certo, to-
dos os anos, sob a presidência do ouvidor dos montados, au-
xiliado pelos seus oficiais – escrivães, meirinhos, procuradores
(c. 6). Nos concelhos, havia os juízes do verde, que marcavam
as coutadas de cada vizinho (zonas em que a pastagem dos
gados foreiros era vedada) (c. 21) e julgavam as coimas; eram
auxiliados pelos escrivães do verde (c. 23).
De âmbito geográfico mais geral era a administração
das matas reais, destinada a regular o desbaste da madeira e
a impedir a caça furtiva514 . O território do reino estava divi-
dido em montarias ou coutadas, em cada uma das quais exis-
tia um monteiro-mor ou juiz das coutadas, que superin-
tendiam na guarda das matas. O julgamento dos feitos rela-
tivos a elas era da competência dos almoxarifes (no caso das
montarias) ou dos juízes das coutadas, que davam apelação
e agravo para o juízo do Monteiro-Mor da corte, integrado
pelo Monteiro-Mor e por dois desembargadores extravagan-
tes da Casa da Suplicação (ibid., pp. 114 e 124).
514 V. reg. 20.3.1605, em J.J.A.S. A organização dos monteiros é extinta em 1800
(alv. 21.3, §28).
379
livro_antonio_m_espanha.p65 379 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Próxima da anterior, a administração dos pinhais –
nomeadamente, do pinhal de Leiria –, regulamentada em 1597
(A. 26.7)(17), e destinada a fazer observar as normas sobre
aproveitamento da lenha e madeira.
5.1.5 Administração central
Do ponto de vista do poder da coroa, o pólo unificador
de todos os ramos da administração periférica anteriormen-
te descritos devia ser constituído pelos órgãos da administra-
ção central ou palatina. Dedicaremos, portanto, as páginas
seguintes a uma sua rápida descrição.
Na corte – Casa Real, Tribunais da Corte e Casa do
Cível – encontramos, no século XVII, cerca de 600 oficiais.
Número que, se bem que corresponda apenas a cerca de 5%
do conjunto dos oficiais do reino, revela um assinalável
desenvolvimento da administração central. As rendas por
eles recebidas ascendiam, na mesma época, a mais de 42
contos, o que corresponde a c. 22% das rendas dos oficiais
de todo o reino; enquanto que os salários que lhes eram
pagos (cerca de 24 contos no conjunto) constituíam quase
metade (39%) dos salários totais. Do ponto de vista
tipológico, também se verifica aqui uma grande exuberân-
cia, pois encontramos cerca de 220 categorias (ou designa-
ções) dos ofícios, o que corresponde a aproximadamente 1/
3 das existentes para todo o reino. Tudo isto corroboraria
um fenómeno de “intensificação” da administração central
comum às monarquias peninsulares, que já foi salientado
por anteriores análises (v. g., a de J. Vicens Vives).
380
livro_antonio_m_espanha.p65 380 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Os ofícios da corte constituem, no entanto, um conjun-
to bastante heterogéneo, agrupado em organismos diversos,
que descreveremos em seguida.
5.1.5.1 Casa Real
Existe, desde logo, o núcleo da Casa Real515 . Ao lado
dos oficiais maiores da casa real – mordomo-mor, estribeiro-
mor, aposentador-mor, camareiro-mor, porteiro-mor, vedor,
armeiro-mor, monteiro-mor, almotacé-mor (cf. Ord. fil., I,18),
correio-mor, cevadeiro-mor, provedor-mor das obras do paço,
meirinho-mor (Ord. fil., I,21) –, os ofícios da guarda, os físi-
cos, cirurgiões e boticários, os ofícios da cozinha e copa, os
reis de armas e seus oficiais, os músicos e inúmeros artífices.
5.1.5.2 Secretários
Os secretários (da câmara, de despacho, de Estado) apoi-
avam o rei nas decisões correntes em matéria de graça e de
governo516 . Constituem a sequência dos oficiais que, desde a
idade média, preparavam o despacho (ou “desembargo”) do
rei. Na segunda metade do século XVI, com o desenvolvimen-
to da administração sinodal, os secretários asseguram, frequen-
temente, a ligação entre o rei e um dos conselhos palatinos (v.
g., o secretário “de Estado”, com o Conselho de Estado; o “da
Índia”, com a repartição da Índia do Conselho da Fazenda ou,
515 Para indicações bibliográficas sobre a Casa Real e os seus oficiais, v. Hespanha
1994, I, 228.
516 V. bibliografia em Hespanha, 1982, 342 e Hespanha, 1994, 243 ss.
381
livro_antonio_m_espanha.p65 381 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
enquanto este existiu (1604-1614), com o Conselho da Índia; o
“da Fazenda”, com o Conselho da Fazenda).
Com D. João III e D. Sebastião aconteceu frequente-
mente que um destes secretários ganhasse um ascendente no
despacho corrente (v. g., os Carneiros ou os Câmaras).
Trata-se de um cargo com um regime institucional flui-
do, oscilando entre o de simples auxiliares privados de des-
pacho – oral ou escrito – do monarca e o de ministros com
competência para coordenar um ramo mais ou menos exten-
so da administração. Em geral, coexistiam vários tipos de se-
cretários (os “da câmara”, os “dos conselhos”). A designa-
ção secretário “de Estado” apenas aparece durante o domí-
nio filipino, provavelmente por simpatia com a designação
de idênticos funcionários espanhóis.
O número e designações dos secretários de Estado va-
riou ao longo de todo o século XVII e XVIII. Em 1604, eram
quatro – negócios de Estado e Justiça; matérias de Consciência
e Ordens; negócios da Fazenda; petições e mercês –, cada uma
das quais correspondente, como se vê à área de atribuições de
um dos conselhos do Paço; só a última era transversal, prepa-
rando o despacho de quaisquer tipos de mercês. Em 1607, fi-
cam reduzidas a duas; mas em 1631 é criada uma nova secre-
taria “da Índia e Conquistas”. Estas secretarias funcionavam
em Madrid; em Lisboa, existiam também secretários dos vice-
reis ou governadores, parecendo que dois foram mais ou me-
nos permanentes, o “de Estado” e o “das mercês”.
382
livro_antonio_m_espanha.p65 382 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Com D. João IV, atribuem-se inicialmente todas as com-
petências a um só secretário, a que se chama “de Estado”,
mas, logo em 1643 (alv. 29.11), desdobra-se esta secretaria
em duas, a “de Estado” e a “das mercês e expediente” (reg.
em B.N.L., ms. 8), segundo uma repartição de competências
constante do mesmo alvará. Pelos finais do século XVII, cria-
se a “secretaria da assinatura”, encarregada do proces-
samento da parte final dos diplomas régios.
Em 1736 (alv. de 28.7, CLE.LA, lI, 458), é reestruturada
a orgânica das secretarias (agora “secretarias de Estado”, cri-
ando três – a do Reino, a da Marinha e Ultramar e a dos Negó-
cios Estrangeiros e Guerra). Esta última é desdobrada em 1787.
A da Fazenda é criada em 1788 (dec. 15.12). Com isto, atinge-
se a especialização da alta administração central que encon-
tramos nos finais do Antigo Regime e que presidirá ainda, ba-
sicamente, à repartição dos ministérios no constitucionalismo
monárquico. A partir dos meados do século XVIII, aparece a
figura do “ministro assistente ao despacho”, espécie de coorde-
nador da acção dos restantes secretários517 .
Em 12.3.1663, dá-se regimento ao cargo de escrivão da
puridade, restabelecido a favor do valido do monarca, o Con-
de de Castelo Melhor, mas que não lhe sobreviveu.
O governo pelos secretários régios – do mesmo modo que
o governo por “untas” eventuais, que se tomou habitual no pe-
517 Sobre a estrutura e funcionamento das secretarias de Estado no séc. XVIII,
importante, Subtil, 1993, 177 ss.
383
livro_antonio_m_espanha.p65 383 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
ríodo dos Áustria, tanto em Portugal como em Espanha – des-
valorizava os conselhos palatinos e corroía o seu poder. Daí que
fossem frequentes as pressões no sentido de exigir a intervenção
dos conselhos para a produção de actos executórios.
5.1.5.3 Conselho de Estado
Mais institucionalizado era o Conselho de Estado518 ,
criado pelo Cardeal D. Henrique, ao tomar posse da regên-
cia, em 1562, para tratar de “assuntos de Estado”, ou seja –
tal como são definidos, no alvo de 29.11.1643 – “contratos,
cazamentos, alianças, instruções, avizos publicos, ou secre-
tos, que se derem a quaisquer embaixadores, comissarios,
agentes, rezidentes, agentes, e quaisquer poessoas [...] que se
despacharem dentro ou fora do Reino, e negócios que forem
da qualidade referida” (A.N.T.T., ms. 2608).
O seu primeiro regimento é já de 8.9.1569, de acordo
com o qual o conselho devia reunir três vezes por semana,
despachando os assuntos que lhe fossem propostos pelo rei
ou nos quais os conselheiros acordassem, destacando-se ex-
pressamente os assuntos da fazenda. Em 1624, dá-se-lhe novo
regimento (referido no de 1645), mandando-se reunir pelo
menos duas vezes por semana. Ele devia, nomeadamente,
assessorar o vice-rei no despacho das matérias que cabiam
na sua alçada(18). D. João IV dá-lhe novo regimento em
31.3.1645519 , espaçando ainda mais as reuniões (todas as se-
518 Cf. bibliografia e fontes em Hespanha, 1994,247 ss.
519 Soisa, 1783, VI, 472; Praça, I, 270; Ajuda 44-xiii-32; ANTT, Ms. Nossa Sra. da
Graça, t. VII D, fl. 277 [nx. 33 – “Emendas”]; BUC, ms. 714; BNL, ms. 30, nx. 8.
384
livro_antonio_m_espanha.p65 384 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
gundas-feiras), mas encomendando aos seus membros, como
principais ministros do reino, a maior liberdade de opinião.
Na sua função de consulta, o Conselho de Estado sofria a
concorrência de “juntas” informais, como a “unta nocturna”,
órgão restrito e quotidiano de consulta instituído por D. Luísa
de Gusmão, talvez inspirada pela Junta de la Noche formada
pelos principais validos de Filipe II.
Com D. Pedro II, o Conselho de Estado reúne-se regu-
larmente (semanalmente), embora, na sua função de conse-
lho, fosse progressivamente substituído pelo “Gabinete do
rei”, constituído pela rainha, validos, desembargadores e
eclesiásticos. Esta tendência de transferir para um “gabine-
te” de secretários as tarefas de conselho e de coordenação
política acentua-se cada vez mais. Por isso – e segundo Merêa
–, a actividade do Conselho decaiu muito desde os finais do
reinado de D. João V. não havendo conselheiros em 1754.
Pombal reestruturou o Conselho em 1760 e nomeou cinco
conselheiros; mas, não tendo estes sido substituídos por mor-
te, o Conselho estava de novo reduzido aos secretários de
Estado. Em 1796, D. Maria nomeou 14 conselheiros e deu
aos ministros de Estado a categoria de conselheiros natos (av.
4.7). Parece ter deixado de reunir em 1801.
5.1.5.4 Conselho de Portugal
Um outro órgão de governo central foi o Conselho de
Portugal520 .
520 Cf. bibliografia e fontes em Hespanha, 1994, 249 ss.
385
livro_antonio_m_espanha.p65 385 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Constituía um dos privilégios oferecidos por Filipe II de
Espanha às cortes de Almeirim de 1579. Teve um regimento
em 1586, alterado em 1602 e, provavelmente, de novo por vol-
ta de 1633. Embora só agora comecem a ser feitos estudos de
detalhe sobre este órgão, a sua importância política parece ter
sido diminuta, ocupando-se sobretudo das trivialidades da
administração, sendo os assuntos de maior vulto remetidos ao
Consejo de Estado (Lynch, 1982, lI, 28). Na literatura
memorialista da época (v .g. na Historia portugueza e de outras
provincias do ocidente ..., de Manuel Severim de Faria, cod. 241
B.N.L.), a discussão sobre as vantagens ou desvantagens da
existência do Conselho gira em torno da questão de saber se
ele embaraça ou facilita o despacho das pretensões dos reque-
rentes portugueses. Em contrapartida, no horizonte nunca
aparece a sua ligação à questão da autonomia de governo por-
tuguesa. Nestes termos, a alternativa ao Conselho de Portu-
gal, que esteve em prática por alguns anos, de encaminhar
directamente os papéis de Lisboa do Vice-Rei para um secre-
tário (Fernão de Matos, Diogo Soares) podia apresentar van-
tagens, por extinguir um dos passos do percurso burocrático.
Em Lisboa, por sua vez, existiram, durante o período
fílipino, governadores e vice-reis, com poderes constantes do
regimento de cada um.
5.1.5.5 Desembargo do Paço
Para as “matérias de graça que tocassem à justiça” – de
facto, a generalidade dos assuntos relativos à administração
386
livro_antonio_m_espanha.p65 386 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
civil do reino – existia o Desembargo do Paço521 . Com ele se
correspondiam os corregedores, quanto à generalidade das
suas atribuições. Por ele se despachavam também as deci-
sões finais sobre as “leituras de bacharéis”, que habilitavam
para o desempenho das magistraturas letradas (“lugares de
letras”), as quais eram também despachadas por este tribunal.
Nele, finalmente, se confirmavam as eleições dos concelhos e
os respectivos oficiais. Mas a sua actividade de controlo rara-
mente configurava uma intervenção directiva, antes se ci-
frando quase sempre num controlo de tipo tutelar.
Segundo uma notícia coeva522 , o seu serviço ocupava o
presidente, dois desembargadores, sete escrivães (“Alentejo”,
“Beira”, “Entre Douro e Minho”, “Lisboa”, “Mesa, letrados
e ofícios” e dois extravagantes), um médico, um cirurgião,
um porteiro e quatro moços de recados; setenta anos depois,
a sua orgânica interna aparece, no entanto, bastante altera-
da – aumenta para nove o número dos desembargadores,
reduzem-se a cinco as escrivaninhas (repartições ou secreta-
rias) – “Justiça”, “Corte, Estremadura e Ilhas”, “Beira”,
“Alentejo”, “Minho e Trás-os-Montes” –, e aumenta o nú-
mero de oficiais menores (dez)523 .
521 Literatura, fontes e ulteriores desenvolvimentos em Hespanha, 1994, 250 ss.
Por último, com antecipações dos resultados de um importante trabalho de
investigação em curso, Subtil, 1993, 163.
522 Cod. 11543 da B.N.L., fls. 168-170.
523 Costa, 1706, III, 585. Para a segunda metade do século XVIII, Subtil, 1993.
387
livro_antonio_m_espanha.p65 387 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
5.1.5.6 Casas da Suplicação e do Cível
As Casas da Suplicação e do Cível constituem o desdo-
bramento do tribunal da corte para as matérias de justiça(19).
A sua competência era, em termos gerais, o julgamento
em última instância, dos pleitos judiciais. A Casa do Cível
exercia esta competência nas comarcas e ouvidorias de Entre
Douro e Minho, de Trás-os-Montes, da Beira (salvo Castelo
Branco) e nas de Esgueira e Coimbra (da Estremadura). A
Casa da Suplicação nas restantes comarcas do reino (cf. Ord.
fil., L,6,12), nas ilhas (durante certo período sujeitas às rela-
ções do Brasi1)524 , no ultramar (até à criação das respectivas
Relações) e quanto a certos juízos privilegiados e especiais.
Esta competência não era exercida indiscriminadamente
por todos os desembargadores; antes estava repartida por
certos núcleos (desembargadores dos agravos, corregedores
dos feitos crimes, corregedores dos feitos cíveis, ouvidores do
crime, juízes dos feitos da coroa e juízes dos feitos da fazen-
da (cf. Ord. fil., I, 6 ss.; Hespanha, 1986a, 330 ss.).
5.1.5.7 Conselho da Fazenda
Um outro tribunal do Paço é o Conselho da Fazenda,
tribunal criado em 1591, na sequência da reforma filipina
da administração superior da fazenda, e em substituição
dos anteriores vedores da fazenda, cujas atribuições her-
524 A Relação da Baía foi criada em 1609 (Regimento, 7.3.1609), extinta em
5.4.1626 e novamente restabelecida em 1652 (Regimento em 12.9.1652). A
Re]ação do Rio foi criada em 16.1.1751 (Regimento em 13.10.1751).
388
livro_antonio_m_espanha.p65 388 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
da(20). Embora o cargo já existisse antes, o primeiro regi-
mento conhecido dos vedores da fazenda é o de 17.10.1516,
integrado no conjunto dos Regimentos e ordenações da Fa-
zenda (Soisa, 1783, I, 1 – 49). Aí se prevê a existência de três
vedores, cada qual com o seu escrivão, com competências
repartidas entre si (cap. 26-29), dispondo de atribuições no
domínio da administração da fazenda real e da jurisdição,
voluntária ou contenciosa, relativa a assuntos da fazen-
da(21). O facto de os três vedores terem competências deli-
mitadas, superintendendo cada qual num pequeno núcleo
de funcionários, deve ter levado a uma quase completa inde-
pendência de cada um. De tal modo que, em 20.11.1591,
Filipe I, constatando que, na prática, o que existia eram três
tribunais distintos, aplicou a este domínio da administra-
ção o regime sinodal, integrando os três vedores num con-
selho, sujeito a um vedor presidente, ao mesmo tempo que
juntava aos vedores não letrados dois outros que o eram.
Surgiu, então, o Conselho da Fazenda, integrando um vedor-
presidente, dois vedores não letrados e outros dois letrados
(Reg. 20.11.1591, Soisa, I, 241-245).
A promulgação das Ord. fil. (1603), que previam a exis-
tência de um Juiz dos feitos da fazenda (ao lado do, já exis-
tente, Juiz dos feitos da coroa) na Casa da Suplicação, vem
tirar quase todas as atribuições de jurisdição contenciosa ao
Conselho da Fazenda, que passa para o Juiz dos feitos da
fazenda da mesma Casa. O grupo de pressão dos juristas
impusera o princípio de que as matérias de justiça, mesmo
389
livro_antonio_m_espanha.p65 389 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
em questões da fazenda, deviam caber a tribunais de justiça.
A solução era, no entanto, gravosa para os interesses da fa-
zenda real, que não apenas se via sujeita à apreciação de
juízes não especializados, como, sobretudo, era enleada no
eficaz sistema de defesa dos direitos dos particulares obser-
vado na ordem judicial comum. Assim, os anos que se se-
guem, praticamente até aos meados do século XVII, são o
palco de um despique entre “financeiros” e “juristas”, de que
são sintomas sucessivas providências legislativas, a propósi-
to da separação de competências quanto à jurisdição
contenciosa em matérias de fazenda entre a Casa da Supli-
cação e o Conselho da Fazenda525 .
A tendência para governamentalizar a administração
da fazenda, furtando-o ao controlo de um conselho, leva,
durante o domínio dos Áustrias à tentativa da outorga da
gestão financeira a Juntas várias526 . Mas o Conselho da Fa-
zenda mantém-se como órgão ordinário.
Por 1641-1642, na sequência da votação dos subsídios
para a defesa do reino pelas cortes reunidas nesse ano527 , cria-
se a Junta dos Três Estados, encarregada de superintender ao
lançamento e cobrança das contribuições que integravam es-
tes subsídios (décimas, real d’água, novos direitos, tributo das
caixas de açúcar, mais tarde, “usuais”). A Junta mantém-se
até aos finais do Antigo Regime (8.4.1813)528 .
525 Cf. Hespanha, 1994, 236 ss.
526 Cf. Hespanha, 1994, 239.
527 Sobre elas, Hespanha, 1993a.
528 Fontes suplementares: Hespanha, 1994, 239.
390
livro_antonio_m_espanha.p65 390 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
As próximas grandes modificações(22) do regime da alta
administração da fazenda só se verificam no tempo de Pom-
bal, com a reforma de 22.12.1761 (CL.E., L.A., IV, 398-429),
que unificou toda a administração não contenciosa da fazen-
da no Tesouro Real do Reino ou Erário Régio, deixando para o
Conselho da Fazenda apenas as atribuições contenciosas, até
que o alv. de 17.12.1790 (A.D.S., 629) une as duas instituições
numa só. Além de evidentes razões de ordem prática, subjaz
às reformas josefina e mariana a ideia iluminista da unidade
do Estado, bem como a mais nítida inclusão das questões da
fazenda entre as matérias “de governo”, libertas de todas as
peias da administração jurisdicional529 .
O Conselho da Fazenda era, portanto, o órgão da corte
que controlava – por processos que ultrapassavam já, em
muitos casos, a simples via do recurso uma extensa área
administrativa – a Casa Real (através da sua Mordomia-mor),
a Casa dos Contos, a Contadoria-mor da Corte e Reino, a Casa
da Moeda, as Casas da Alfândega de Lisboa, a Casa da Índia
e da Mina, os Armazéns da Guiné e da Índia, as alfândegas e
portos secos do reino, os contadores, os feitores régios e os
almoxarifados do reino, dos próprios e dos mestrados, etc.
Em todo o caso, a própria organização da fazenda pú-
blica e da sua contabilidade dificultavam este controlo pois,
como já vimos, vigorava a regra do pluralismo orçamental e
a da consignação de receitas a certas despesas, pelo que a
529 Sobre esta última fase da alta administração financeira, v. Subtil, 1993, 171
ss., 181 s.
391
livro_antonio_m_espanha.p65 391 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
fazenda se repartia numa pluralidade de fundos dotados de
grande autonomia e afectados a certas finalidades ou despe-
sas pré-fixadas. O que reduzia bastante o poder de disposi-
ção deste órgão central.
5.1.5.8 Mesa da Consciência e Ordens
Para as matérias tocantes à “consciência” e para o go-
verno das ordens militares de que o rei era grão-mestre – existia
a Mesa da Consciência e Ordens530 .
A Mesa da Consciência é criada em fins de 1532 por D.
João III com o encargo de o aconselhar sobre os assuntos que
“tocavam à obrigação da sua consciência”. Parece que ter
funcionado sem regimento até 1558 (24.11). Novos regimen-
tos surgem em 1608: primeiro, o do Presidente da Mesa
(12.8.1608); depois (23.8), o da Mesa 531 . É-lhe atribuída a
tutela da administração espiritual e temporal das ordens mi-
litares (n. 16); a tutela das provedorias e mamposterias dos
cativos (n. 16) e dos defuntos e ausentes (n. 16); o governo da
Casa dos órfãos de Lisboa (n. 17); o provimento e governo
das capelas de D. Afonso IV e D. Beatriz (n. 17); o provimen-
to das mercearias dos reis e infantes passados (n. 17); a ad-
ministração do Hospital das Caldas e de outros hospitais,
gafarias e albergarias de protecção real (n. 17); a superinten-
dência da administração da Universidade (n. 18); o provi-
mento dos ofícios relativos às repartições que tutelava, bem
530 Bibl. e fontes, Hespanha, 1994,251 ss.
531 O primeiro publicado em J.J.A.S., 228 ss.; o segundo, em UAS., 231 ss.
392
livro_antonio_m_espanha.p65 392 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
como dos das terras das ordens (ns. 18 ss. e n. 26); o governo
espiritual das conquistas (n. 23; correndo, entre 1604 e 1614,
o seu governo temporal pelo Conselho da Índia, então cria-
do); bem como, em geral, todas as coisas que toquem à cons-
ciência do rei (n. 27). No domínio contencioso, era tribunal
de recurso nas matérias de foro privilegiado dos cavaleiros
das ordens (n. 10), bem como a instância por onde se passa-
vam os perdões e cartas de fiança dos privilegiados (ns. 43
ss.) ou se concediam autorizações para a alienação ou sub-
rogação dos bens das comendas (n. 42).
As reformas do Erário régio promovidas por D. José I, a
partir da lei de 22.12.1761, tendentes, sobretudo, à centrali-
zação da administração financeira, levam a que, por Alv. de
20.6.1774, se extingam os contos dependentes da Mesa, quer
quanto às rendas das Ordens, quer quanto às dos cativos,
integrando-se tudo no Erário (AD.S, 776).
Em 22.4.1808 cria-se uma Mesa da Consciência no
Rio de Janeiro (cf. também A 12.5.1809, sobre os ordena-
dos dos seus membros).
Embora tenha estado projectada a sua reforma nos
finais do século XVIII, tendo para tal Pascoal de Melo redi-
gido um relatório (Merêa, 1949), a Mesa acabou por ser ex-
tinta em 16.8.1833 532 .
532 Sobre os seus funcionários, cf. Hespanha, 1994, 253; Subtil, 1993, 169.
393
livro_antonio_m_espanha.p65 393 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
5.1.5.9 Conselho da Índia e Conselho Ultramarino
As matérias de governo das conquistas correram, até
1604, pela Mesa de Consciência. Então, reconhecendo-se a
falta de um tribunal especializado para as coisas “da Índia”
(como existia em Espanha, desde 1524), é criado o Conselho
da Índia, a que se dá regimento em 25.7.1604 (J.J.A.S.,87)533 .
Nele eram tratadas, todas as matérias, qualquer que fosse a
sua natureza, relativas ao ultramar, tirando as Ilhas e Norte
de África, nomeadamente: provimento dos bispados, ofícios
da justiça, guerra e fazenda; despachos de parte vindos do
ultramar; mercês de serviços do ultramar; etc. O despacho
de naus e armadas, bem como a administração das rendas
do ultramar, continuava, porém, a correr pelo Conselho da
Fazenda, a fim de evitar a pulverização da gestão financeira,
objectivo que a coroa já então prosseguia.
A criação do Conselho da Índia deve ter provocado
reacções, especialmente por parte dos deputados da Mesa da
Consciência, que viam as suas prerrogativas severamente
restringidas. Assim, o novo conselho resiste apenas dez anos,
sendo extinto em 1614 e distribuídas as suas competências pela
Mesa da Consciência e pela repartição da Índia do Conselho
da Fazenda; embora tenham permanecido razões objectivas
para a sua reconstituição. Com a Restauração, restabelece-se
o Conselho, a que é dado regimento em 1642 [ou 1643 ?] (Reg.
14.7.1642 [ou 1643?], J.J.ªS., 151; CLE.LA, I, 431). Ao mesmo
533 V., para mais pormenores, Hespanha, 1994, 255 ss. (e bibl. aí citada).
394
livro_antonio_m_espanha.p65 394 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
tempo, é extinta a repartição da Índia do Conselho da Fazen-
da, cujo vedor passa a ser o presidente do novo Conselho, as-
sessorado por mais dois conselheiros de capa e espada e por
um letrado. O novo Conselho não recupera, porém, as atribui-
ções espirituais relativas ao ultramar, que continuam na Mesa
da Consciência. No resto, o regimento corresponde ao de 1604,
embora a competência do novo conselho em matéria de fa-
zenda seja porventura um pouco alargada.
Em 28.7.1736 (CLE.LA, II, 458) é criada, como já se
viu, a Secretaria de Estado dos Negócios da Marinha e Do-
mínios ultramarinos, que faz a ligação entre o Conselho e o
rei e tende, progressivamente, a assumir as competências
governativas do Conselho534 . Em 30.8.1833 é extinto.
5.1.5.10 Conselho de Guerra
O governo militar do reino correu, durante a primeira
metade do século XVII, ou pelos órgãos normais de governo
(nomeadamente, pelo que toca ao reino, pelo Desembargo
do Paço e secretarias régias, e, pelo que toca às conquistas,
pelos conselhos da Fazenda e da Índia), ou pelo Consejo de
Guerra, de Madrid. A Guerra da Restauração exigiu uma
maior coordenação do governo militar. Assim, logo três dias
depois da revolução, em 11.12.1640, cria-se o Conselho de
Guerra (J.J.A.S., 10). Dificuldades de funcionamento levam
à sua reforma em 1643 (reg. 22.12.1643). A sua competência
534 Pelo alv. 16.6.1763, recebe a competência contenciosa do Conselho da Fazenda.
395
livro_antonio_m_espanha.p65 395 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
abrangia tudo o que se referia à defesa do reino, embora a
administração financeira da milícia competisse, como vimos,
à Junta dos Três Estados. O Conselho dispunha ainda de com-
petência disciplinar de última instância sobre os militares. A
jusante, correspondia-se com os governadores de armas das
províncias, criados na mesma altura. Com a criação da Se-
cretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e Guerra, em
1736, o Conselho de Guerra perde bastante importância como
órgão de governo, embora tenha mantido as suas competên-
cias jurisdicionais e consultivas até à sua extinção em 1834535 .
5.1.5.11 Tribunais eclesiásticos
Finalmente, embora quase sem impacto nas matérias
político-administrativas internas, dois outros tribunais: o
Conselho Geral do Santo Ofício536 e o Tribunal da Bula
da Cruzada 537 .
Estes órgãos da administração central dividiam entre
si, como vimos, as várias matérias do governo538 .
535 Literatura e fontes, Hespanha, 1994, 256 ss.
536 Sobre o Conselho Geral do Santo Ofício, V. a síntese publicada em Serrão,
1963. Espera-se a publicação de um estudo recente e importante, de Francisco
Bethencourt. Outra bibliografia, em Hespanha, 1992, 69.
537 O Tribunal da Bula da Cruzada cobrava e administrava os rendimentos
provenientes da Bula da Cruzada, regularmente concedida aos soberanos por-
tugueses a partir de Gregório XIV (bula Decens esse videtur, de 6.4.1591), desti-
nados à conservação e defesa dos fortes do norte de África. O tribunal foi
criado em 1591, tendo-se regulado pelo regimento do correspondente tribunal
de Castela e por disposições avulsas até 1634, data em que lhe é dado um
regimento (reg. 10.5.1634, J.JA.S., 10), que se mantém em vigor até ao século
XIX. Os seus comissários eram apresentados pelo Papa e nomeados pelo rei.
538 Outros tribunais, juntas e repartições, Subtil, 1993, 258, n. 261 (fontes legislati-
vas podem ser encontradas, sob cada nome, em Thomaz, 1843).
396
livro_antonio_m_espanha.p65 396 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
5.1.6 Súmula
Traçado este panorama dos grandes ramos do apare-
lho político-administrativo, na periferia e no centro, importa
fazer um balanço final, em que se avalie a importância rela-
tiva desses ramos, se visualize o peso que este aparelho tem
em relação à população do reino (notando as eventuais
assimetrias regionais) e se determine o peso de cada uma das
principais categorias de oficiais no conjunto.
Os cálculos numéricos de seguida apresentados basei-
am-se em estudos efectuados para o século XVII. Desde já
se adverte que a extrapolação para os fins do século XVIII é
muito arriscada, tudo indicando que se verifica, a partir dos
meados de setecentos, uma sensível intensificação das es-
truturas políticas e administrativas centrais539 . Como tam-
bém se dá uma alteração da importância política e simbóli-
ca dos vários órgãos.
Por volta de 1640, existem em Portugal cerca de 11 700
oficiais da administração periférica, a que haverá que somar
cerca de 500 outros da administração palatina.
A importância de cada um dos ramos do aparelho ad-
ministrativo anteriormente descritos é-nos dada pelo Qua-
dro e pelo conjunto de Gráficos. Nestes últimos, os ofícios
aparecem repartidos em dez grandes ramos: (1) os ofícios da
administração real periférica não incluídos nas categorias 2
539 Cf., com novos dados numéricos, para os finais do séc. XVIII, que documen-
tam um enorme crescimento da administração central (6 ou 7 vezes), Subtil,
1993, 190 ss.
397
livro_antonio_m_espanha.p65 397 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
e 3; (2) os das alfândegas; (3) os da fazenda; (4) os ofícios das
sisas; (5) os ofícios concelhios excluídos os das sisas, órfãos e
milícia honorária (ou seja, os ofícios concelhios da justiça e
da “economia” ou “polícia”); (6) os dos órfãos; (7) a milícia
honorária; (8) os ofícios senhoriais ou de corporações com
autonomia jurisdicional (universidades, hospitais); (9) os ofí-
cios de tipo dominial; (10) outros.
Daqui resulta claro que, com algumas variações regio-
nais, a maior parte dos ofícios corresponde aos ofícios
concelhios (cerca de 72%, incluindo aqui os ofícios da milí-
cia honorária). Devendo notar-se que nestes se poderão ain-
da incluir os ofícios das sisas e os dos órfãos, com o que a
percentagem subiria para 85%.
Gráfico 8 – p. 244 no original
Isto é particularmente nítido nas comarcas ao norte do
Douro e na Beira interior (comarcas de Viseu, Lamego, Pinhel
398
livro_antonio_m_espanha.p65 398 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
e Guarda). Em contrapartida, destes elementos estatísticos
ressalta a modéstia, em termos quantitativos (cerca de 10%),
do aparelho da administração real periférica, constituído pelos
ramos (1), (2) e (3).
Agrupando os anteriores dados segundo uma outra
classificação, obtemos o quadro seguinte:
Gráfico 9 – p. 245 no original
Estes elementos estatísticos permitem destacar uma
outra conclusão: o aparelho político-administrativo estava
predominantemente voltado para a realização das funções
judicial e “económica” (ou “de polícia”). À primeira esta-
vam ligados cerca de 28% dos oficiais e à segunda cerca de
46% (incluindo aqui os ofícios “dos órfãos, resíduos e cape-
las”). As tarefas fiscais-financeiras ocupavam cerca de 12%,
enquanto que a milícia ocupava 8%; sendo de notar que a
milícia mercenária – elemento considerado central nos pro-
399
livro_antonio_m_espanha.p65 399 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
cessos europeus de construção do Estado – não conta senão
com pouco mais de meia centena de oficiais (uns 5 por mil,
relativamente ao total).
Estes números permitem-nos concluir algo sobre os fins
do poder, tal como eles se manifestam na prática. Neste pla-
no, os aparelhos de poder confirmam, até certo ponto, o
modelo doutrinal dominante. Na verdade, a supremacia
que os respúblicos continuavam a atribuir à justiça como
fim primeiro do poder reflectia-se, no plano da acção polí-
tica, na importância numérica dos ofícios de justiça, em-
bora esta importância fosse acompanhada – ou até ultra-
passada – pela dos ofícios “económicos” ou “de polícia”, a
maior parte deles vindos da época medieval. O que, por
seu lado, mostra como a ideia de que ao poder cabe regular
os aspectos quotidianos da vida em comum não é uma ino-
vação do “Polizeistaat”; o qual, neste ponto, apenas trans-
portou para o nível central um modelo de acção política de
há muito em vigor no nível periférico do poder (família, co-
munidades). Assim, o peso dos ofícios de polícia – que, note-
se, são quase todos ofícios concelhios – não indicia, no nosso
caso, a emergência de um paradigma moderno de poder po-
lítico, mas a supervivência das formas medievais de tutela
comunal da vida colectiva.
Já os 12% dos ofícios da fazenda representam um traço
característico da organização proto-estadual do poder políti-
co, embora aqui ainda estejam incluídos os ofícios (locais) das
sisas, que representam quase 50% do grupo. Se os descontar-
400
livro_antonio_m_espanha.p65 400 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
mos, o significado deste sector reduz-se a uns 6% do total, dos
quais – acrescente-se – metade correspondia à administração
alfandegária. A justiça estava mais bem dotada, representan-
do cerca de 5% dos ofícios totais. Mas, mesmo assim, juízes
régios não existiam sequer em 10% dos concelhos.
Gráfico 10 – p. 246 no original
A tipologia dos próprios ofícios reflecte esta mesma es-
trutura “jurisdicionalista” da administração ou mesmo aquilo
a que se tem chamado a “civilização do papel selado” (“civiltà
della carta bollata”, F. Chabod). Na verdade, se retiramos do
conjunto os oficiais dos concelhos – os almotacés (9% do total)
e os vereadores (17% do total) –, nada menos do que um terço
dos restantes oficiais é constituído por escrivães – dos quais os
escrivães do público e judicial representam cerca de 40 % – e
um quinto por juízes. Julgar e escrever são, pois, as tarefas
paradigmáticas da administração oficial na época moderna.
401
livro_antonio_m_espanha.p65 401 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Por outro lado, e como também já notámos, esta admi-
nistração periférica carecia de articulação, de modo a po-
der ser encarada como um aparelho coerente e unificado.
Para isto era, desde logo, decisivo o facto de a esmaga-
dora maioria dos oficiais pertencer, como se disse, a entida-
des dotadas de extensa autonomia jurisdicional – os conce-
lhos. A unidade poderia, no entanto, provir de um esforço
de articulação realizado pela administração real periférica.
Mas, mesmo esta, era, em si mesma, desarticulada. Desarti-
culada no topo; pela falta de órgãos palatinos de coordenação,
pelo menos até ao período pombalino, em que surge uma
lógica “de ministério” (ou “gabinete”), dominada por uma
ideia de direcção política centralizada. Mas também na peri-
feria, por falta de um funcionário com poderes de coor-
denação global dos representantes locais da coroa, como o
foram os intendentes franceses ou o Kreishauptmann noutros
reinos da Europa. Apesar da tendência para o alargamento
dos seus poderes, o corregedor foi sempre, fundamentalmente,
um oficial de justiça e de “administração civil”, nunca tendo
podido controlar as decisivas áreas da milícia ou da fazenda.
As possibilidades de intervenção na periferia do aparelho
político-administrativo da coroa eram, portanto, desde logo
reduzidas, em virtude desta escassez de meios humanos.
402
livro_antonio_m_espanha.p65 402 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Gráfico 11 – p. 247, 248 e 249 no original
Mas também o tipo de relacionamento institucional en-
tre o aparelho político-administrativo periférico da coroa e as
estruturas político-administrativas que lhe estavam subordi-
nadas dificultava uma estratégia centralizadora. De facto, e
como já antes dissemos, as relações entre o centro e a periferia
do sistema oficialato existentes no sistema político moderno
não podem ser descritas, salvo porventura em domínios ex-
cepcionais como a milícia e as finanças, através do modelo
que hoje designamos por relação hierárquica. O facto de a com-
petência (ou jurisdição) do funcionário ser, no domínio da te-
oria do ofício do direito comum (v. Hespanha, 1993, V. 3; Subtil,
1993, 187 ss.), quase absolutamente garantida contra intro-
missões, impedia que o superior pudesse dar ordens ao infe-
rior ou avocar as suas competências. A intervenção do superi-
or esgotava-se assim numa actividade de tutela, dirigida a ve-
rificar o cumprimento do regimento dos oficiais “subordina-
403
livro_antonio_m_espanha.p65 403 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
dos”. Esta diluição do vínculo de subordinação não se verifi-
cava apenas entre os oficiais da administração real e os da
administração local com que se correspondiam a jusante; ca-
racterizava também o próprio aparelho administrativo da co-
roa, nas suas ligações entre o centro e a periferia.
Gráfico 12 – p. 250 no original
Um outro aspecto a considerar, nesta descrição estru-
tural e global do aparelho político-administrativo periférico
é o da sua distribuição regional.
Os Mapas cartografam os valores da relação entre a
população das diversas comarcas e ouvidorias e o número
de oficiais que aí serviam, distinguindo entre o número total
e o dos ofícios não honorários.
No primeiro deles, a consideração dos valores dos ofíci-
os honorários, nomeadamente nas zonas em que a dimensão
média dos concelhos é pequena (Beira interior e litoral), obs-
404
livro_antonio_m_espanha.p65 404 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
curece um tanto a leitura, apesar de já apontar para a relati-
va debilidade do enquadramento político-administrativo das
zonas litorais ao norte do Tejo, das zonas transmontanas e
do Alentejo interior. Mas no Mapa seguinte já se manifestam
claramente as simetrias dos equipamentos político-adminis-
trativos: fortes nas comarcas ribeirinhas do Tejo (embora não
tenham sido considerados os ofícios das lezírias, paúis e
jugadas de Santarém), do Alentejo litoral e no Algarve (em-
bora tenham sido descontados os ofícios das almadravas);
fracos nas comarcas de Entre Douro e Minho, no litoral ao
norte do Tejo e no Alentejo interior.
Naturalmente que estas as simetrias terão explicações
variadas, decorrentes da história político-administrativa lo-
cal, que são uma análise mais detalhada pode averiguar.
Gráficos 13 e 14 – p. 252 e 253 no original
405
livro_antonio_m_espanha.p65 405 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Bibliografia citada
ALBUQUERQUE, Martim de, “Política, moral e direito”, Estudos de
cultura portuguesa, Lisboa, Imprensa Nacional, I, 1985.
CABEDO, Jorge de, Decisionum ac rerumjudicatarum, Ulyssipone, 1601.
COSTA, João Martins da, Domus Suplicationis Curiae Lusitaniae [...]
stylisupremique Senatus consulta, Ulyssipone, 1622.
FRAGOSO, Baptista, Regimen reipublicae christianae, Lugduni, 1641-1652.
HESPANHA, António Manuel, As vésperas do Leviathan. Instituições e
poder político. Portugal, século XVII, Lisboa, ed. autor, 1986,2 vols.
HESPANHA, António Manuel, “Justiça e administração entre o Anti-
go Regime e a Revolução”, in P. Grossi (ed.), Hispania. Entre derechos
proprios y derechos nacionales, Milano, 1990, I, pp. 135-204.
* HESPANHA, António Manuel, Poder e instituições no Antigo Regime,
Lisboa, Cosmos, 1992.
* HESPANHA, António Manuel, As Vésperas do Leviathan. Instituições e
poder político. Portugal- século XVII, Coimbra, Almedina, 1994.
HESPANHA, António Manuel, “A “Restauração” portuguesa nos
capítulos das cortes de Lisboa de 1641”, Penélope. Fazer e desfazer a
história,1993, pp.29-60.
HESPANHA, António Manuel, La gracia dei direcho. Economia de la cultu-
ra en la Edad Moderna, Madrid, Centro Estudios Constucionales, 1993.
LANDIM, Nicolau Coelho, Nova et scientifica tractatio [...] I. De Syndicatu,
Ulysipone, 1627.
MELO (Freire), Pascoal, Institutiones iuris civilis lusitani, Conimbricae,
1789.HESPANHA, António Manuel, História das instituições. Época
medieval e moderna, Coimbra, Almeida, 1982.
MONTEIRO, Nuno Gonçalo, “Os concelhos e as comunidades”, in J.
Mattoso (dir.), História de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993-
1994, IV, pp. 333-380.
PASCOAL DE MELO, Institutiones iuris lusitani, Ulysipone, 1789.
PEGAS, Manuel Álvares, Commentaria ad Ordinationes Regni Portugaliae,
Ulysipone, 1669-1703, 12 tomos + 2.
406
livro_antonio_m_espanha.p65 406 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
SAMPAIO, Franscisco Coelho de Sousa, Prelecções de direito pátrio; Lis-
boa, 1793.
SERRÃO, Joel (dir.), Dicionário de história de Portugal, Lisboa, Iniciati-
vas Editoriais, 1963.
* SILVA, Ana Cristina Nogueira, e A. M. Hespanha, “O quadro espaci-
al”, in J. Mattoso (dir.), História de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores,
1993-1994, IV (“O Antigo Regime”, dir. por A. M. Hespanha), pp. 39-48.
SILVA, José Monteiro de Andrade e, Colecção chronológica de legislação
[...], Lisboa, 1854-1859.
SOISA, José M. C. C. e Systema dos regimentos reais, Lisboa, 1783.
* SUBTIL, José Manuel (1993), “Governo e administração”, in J. Mattoso
(dir.), História de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993-1994, IV,
pp. 157-193.
THOMAZ, Manuel Fernandes, Reportorio geral ou indice alphabetico das
leis estravagantes [...], Lisboa, 1843.
Bibliografia sugerida – As obras assinaladas com *.
Notas
(1) Sobre a jurisdição dos juízes de fora, v. Ord. fil., I, 65. Sobre as origens e
evolução dos juízes de fora, cf. Hespanha, 1982, 254 s. e bibliografia aí citada.
(2) Sobre a residência (sindicância ou inspecção) dos juízes de fora e dos
corregedores, feita por um desembargador nomeado pelo rei, V. Ord.fil., I,6.
Doutrina: por todos, Landim, 1627.
(3) Também não vingou, por outro lado, a tentativa de transformar os juízes de
fora em supervisores dos juízes eleitos das terras vizinhas. D. João I tentara-o,
com o argumento de que era provável que estes últimos não “pudessem fazer
direito”. Mas, face às reacções, desiste do seu intento (cf. Ord. af, II, 59,6).
Durante o século XVIII, ter-se-á formado a prática de alguns juízes de fora
exercerem jurisdição sobre concelhos vizinhos. Prática que é coonestada, para
os casos em que existisse, pelo alv. de 22.1.1785, António D. S. Silva, Coll.
chron. leg., loc. respect).
(4) Assim, não poderiam exercer em relação aos juízes de fora as atribuições de
Ord. fil, I,58, 5 e 34 (cf. Pegas, 1669, IV, ad 1,58, gl. 10, n.º 1 [pg. 543] e
literatura aí citada).
(5) Cf. Ord. fil., I,58,23. e Reg. do Desembargo do Paço, § 45. Pegas vai mesmo ao
ponto de duvidar da possibilidade de o corregedor avocar os feitos do juiz de
fora no âmbito do n. 22 (feitos de poderosos) (cf. Pegas, ad I,58, gl. 24 (p. 554),
407
livro_antonio_m_espanha.p65 407 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
a literatura aí citada, nomeadamente Valasco, 1612, all. 77, n. 9 ss. A possibi-
lidade de o corregedor conhecer por acção novas as causas nas terras em que
não houvesse juiz de fora tem origem numa lei de 17.7.1527 em que, respon-
dendo a um pedido dos povos no sentido de os corregedores não avocarem as
acções dos juízes das terras, o rei decide em contrário “havendo respeito que
nas outras cidades villas e lugares de suas correições onde não houver juízes de
fora se seguiria mais oppressão as partes de os corregedores não conhecerê das
auções novas pellos juízes não serem letrados e serem naturais da terra e não
poderem com tanta brevidade nem tão livremente fazer justiça nem o dereyto
das partes lhe sera tambem guardado” (José Anastácio de Figueiredo, Synopsis
chromologica, 1790, I, 328).
(6) Sobre a interpretação deste preceito, V. Pegas, 1669, ad I, 58, gl. 24 (p. 554).
(7) A provisão de 12.8.1750 manda-os informar sobre as pessoas mais capazes de
andar na governança.
(8) Cf. Pegas, 1669, IV, (ad 1,58), gl. 12, n. 5 (p. 546). Privativa era, por exem-
plo, a competência dos provedores e contadores, pelo que os corregedores
não podiam, em princípio, intrometer-se em matérias de fazenda, a não ser
quando a lei expressamente o determinasse ou nas faltas do provedor (cf.
Ord. fil., 1,58,10).
(9) Assim, os contadores vêm de dois em dois anos a Lisboa prestar contas ao
Conselho da Fazenda (Reg. 17.10.1516, cit., cap. 85); recebem deste os cader-
nos de assentamentos por onde os almoxarifes hão-de fazer os pagamentos e
vigiam o cumprimento das instruções neles contidas (ibid., cap. 78); tomam
anualmente as contas aos almoxarifes (Ibid., cap. 81), etc. Quanto a estes, além
de sujeitos a este controlo, devem pedir instruções aos contadores, no caso de
dúvida (Ibid., 116); enquanto que, a jusante, exercem uma idêntica actividade
de inspecção e instrução sobre escrivães e recebedores (v. g., Ibid., 104).
(10) Fonte legal: Ordenações da fazenda, de 17.10.1516, em Soisa, 1783, I, 62 ss.
(11) I. e., oficiais com salários assentados na folha daquela repartição.
(12) Sobre a alfândega de Lisboa, que tinha, como já se viu, uma organização
particular, v. o Foral da Alfândega de Lisboa, de 15.10.1587, em Soisa, 1783, II,
1 ss. Comentário e decisões judiciais em Pegas, 1669, t. IX, ad 2,26, § 9 e 20,
33; 2,28, rubr.
(13) Sobre as jugadas – tributo sobre cuja aplicação havia muitas questões práti-
cas, quer quanto às terras por que era devido, quer quanto às isenções pessoais
(cf. Ord. fil., 2,33) – há uma vastíssima literatura. Para a descrição sistemática,
Sampaio, 1793, 102. Para a doutrina anterior: verdadeiro tratado sobre o tema,
com muita jurisprudência, regimento das jugadas de Santarém de 25.3.1559,
Foral novo e regimento das jugadas de Coimbra, Pegas, 1669, t. IX, ad 2,33,
rubr., pg. 357 ss.; Cabedo, 1601, I, d. 188; II, d. 64.
(14) Sobre este tipo administrativo, V. R. Durand, Le cartulaire du Saio-Ferrado du
monastere de Grijó (XI-XIII siecles), Paris, 1971, XLVII. Os oficiais das jugadas –
como o próprio tributo – estão, porventura, mais próximos da administração
dominial medieval do que da administração fiscal moderna.
(15) Reg. das lezírias de 24.11.1576, em Soisa, 1783, II, 289 ss.; reg. dos paúis,
Ibid., 315 ss. O carácter real das lezírias decorria quer do direito comum, quer
do direito pátrio (Ord. fil., II, 26). No campo do Mondego, havia também um
provedor dos marachões, com os seus oficiais (reg. 8.9.1606, Pegas, 1669, IX,
ad II, 33, gl. 33, ou J.JA.S., 178).
408
livro_antonio_m_espanha.p65 408 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
(16) Sobre este foro especial, e os abusos a que dava lugar, Col. lego estrav., I, 14
ss., 52 ss.
(17) Cf. A Arala Pinto, O pinhal do rei. Subsídios, Alcobaça, 1938-1939,2 vols.
Novo regimento em 25.7.1751 (A.D.S.).
(18) Reg. do Arquiduque Alberto, cap. VI e VII; Reg. do Conde de Basto, de
18.7.1633, J.J.A.S., p. 318 ss., art. 16.
(19) Não existem monografias actualizadas sobre o tema, pelo que uma inves-
tigação de fundo teria que começar pelos textos legais (para a Casa da
Suplicação, Ord. fil., I, 5-34; para a Casa do Cível, Ord. fil., I, 35-46; legislação
extravagante abundante em Thomaz, 1843, S.V. “Relação ...”, “Casa da
Suplicação”, “Casa do Cível”, “Desembargadores”) e pelos comentários
doutrinais: antes de todos, Pegas, 1669, tomos II e III (v. os “estilos” da Casa
do Cível, em IV, p. 13 ss.), João Martins da Costa, Domus Sul/icationis... Styli,
Ulyssipone, 1608. Literatura secundária em Hespanha, 1994, 228 ss. Recen-
temente, com organigrama, Subtil, 1993, 170.
(20) Literatura e fontes em Hespanha, 1993,236 SS. Dado o seu paralelismo com
a evolução portuguesa, ainda que manifestando uma sistemática precocida-
de, tem interesse recordar os traços gerais da alta administração financeira
castelhana. O Consejo de Hacienda existia desde 1532, com atribuições e estrutu-
ra semelhantes ao português. A cobrança e administração dos serviços (millones)
votados em cortes corria pela Comissión de millones, criada por 1590, integrada
no Consejo em 1658, e correspondente, nas suas funções, à nossa Junta dos Três
Estados. O reforço da via governativa em matéria de fazenda leva à criação,
desde 1714, de uma Secretaria de Estado e Despacho especializada, margina-
lizando o respectivo conselho.
(21) No domínio da administração, competia-lhes: arrecadar as rendas reais (cap. 3);
administrar o comércio ultramarino (incluindo as rendas da Madeira) e decidir
sobre temas com ele conexos (como o abastecimento, defesa e obras das conquis-
tas), cap. 6; tomar as contas aos almoxarifes e contadores das comarcas, bem
como a outros oficiais que lhas devessem (vedores da fazenda do Algarve e do
Porto, contador-mor de Lisboa, recebedores e rendeiros), passando as respecti-
vas cartas de quitação, caps. 6 e 30. ss:; administrar os bens próprios do rei
(lezírias, paços, casas, armazéns, terecenas, fortalezas), cap. 6; preparar a deci-
são real em todos os assuntos de graça que tocassem a fazenda, nomeadamente
tenças, ordenados, padrões, dada de jurisdições, etc., caps. 7,9,50,51-54; dar
condicionalemente – por cartas de “se assim é” – rendas reais, caps. 11,20; dar
ofícios das sisas e direitos reais, caps. 21-33. No domínio da jurisdição voluntária,
cabia-lhes: arrendar e aforar propriedades (cap. 3); arrendar rendas reais (caps.
3, 10, 52); despachar, por si ou por consulta ao rei, todas as cartas em matéria de
fazenda (cap. 5). No domínio da jurisdição contenciosa, estava-lhes atribuído o
conhecimento: dos recursos (eventualmente, de acções novas) em matéria de
sisas, cap. 23; dos feitos em que fossem parte os rendeiros de rendas da coroa,
capo 23; dos erros dos oficiais da fazenda, cap. 24; das apelações das decisões
de almoxarifes, recebedores e rendeiros, capo 25; e, em geral, de “todas as cousas
que pertencem à nossa fazenda, & della dependerem por qualquer via que seja”,
quer por acção nova, quer por apelação, cap. 23.
(22) V. lista dos seus oficiais, denotando algumas reformas internas, no reg.
29.12.1753 (Col. Leg. extr. Leis e alvs., III, 188).
409
livro_antonio_m_espanha.p65 409 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
5.2 Disciplina e punição
No capítulo anterior descrevemos as atribuições políti-
cas da coroa e os aparelhos político-administrativos que as
levavam a cabo. Neste capítulo, estudaremos o direito penal
da monarquia, ou seja, o modo como a coroa projectava li-
dar com as condutas desviantes.
Antes de iniciar o tratamento desta matéria, convém
fazer duas advertências, que explicarão a abordagem que dela
iremos fazer.
Em primeiro lugar, é preciso ter claro que o direito pe-
nal oficial não é o único meio com que uma sociedade procu-
ra disciplinar as condutas desviantes. Pelo contrário, ela fá-
lo por múltiplos mecanismos, desde a ameaça de punições
extraterrenas ao escárnio e à troça, passando pelos mecanis-
mos da disciplina doméstica. Na sociedade de Antigo Regi-
me, a função da repressão penal é ainda mais nitidamente
subsidiária de mecanismos quotidianos e periféricos de con-
trolo. Isto explicará o carácter pouco efectivo da punição
penal, a que nos referiremos adiante.
Em segundo lugar, deve ser sublinhado que, justamen-
te em função desta sua falta de efectividade, o direito penal,
sobretudo no Antigo Regime, desempenha não tanto uma
função de disciplina efectiva da sociedade, mas sobretudo de
afirmação enfática – consagrada em normas explícitas, apoi-
ada por aparelhos organizados e públicos de constrangimen-
to, embebida em liturgias e espectáculos públicos – de um
410
livro_antonio_m_espanha.p65 410 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
conjunto de valores sociais a defender pelo poder público.
Daí que tenha sentido encarar as normas penais como mani-
festações de um sistema axiológico subjacente, que o poder
implicitamente promete/ameaça impor, como condição mí-
nima da convivência social. Através do direito penal, pode-
mos, então, surpreender aquilo que a coroa (exprimindo pon-
tos de vista culturais mais gerais) entende serem os valores
indispensáveis da convivência, em termos tais que a sua de-
fesa deve ser assumida pelo poder público. Na prática, po-
rém, o grau de realização desta garantia mínima acaba por
ser muito baixo. Pelo que o direito penal desempenha, afinal
(como veremos na última parte do capítulo) uma função muito
mais simbólica do que disciplinar.
5.2.1 O sistema axiológico do direito penal de Antigo Regime
O crime, em si, não existe. Ele é produzido por uma
prática social de censura, discriminação e de marginalização,
prática mutável e obedecendo a uma lógica social muito com-
plexa. Sobre os resultados desta primeira actividade de cons-
tituição dos “objectos criminais” projecta-se uma segunda
grelha de classificação, esta doutrinal, produzida pelo dis-
curso jurídico penal. Este redefine os “crimes vividos”, cons-
truindo novos conceitos (“tipos penais”), e organiza e inter-
relaciona estes últimos em grandes categorias, referidas a
certos valores (religião, vida, segurança, propriedade).
411
livro_antonio_m_espanha.p65 411 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Na descrição que se segue, tomaremos como base as
grandes categorias definidas, já nos finais do século XVIII,
por Pascoal de Melo540 .
5.2.1.1 Crimes contra a ordem religiosa
É apenas nas Ordenações filipinas (1604) que os “crimes
religiosos” aparecem agrupados. Nas Manuelinas (1521), es-
tes tipos penais ainda aparecem dispersos. Aparentemente,
a erupção deste objecto “crime religioso” no discurso
legislativo português ocorreu na segunda metade do século
XVI, possivelmente na sequência do aparecimento de um foro
especial para estes delitos, o Tribunal do Santo Ofício, cuja
competência (privativa da jurisdição ordinária, quer civil,
quer eclesiástica) abrangia todos os “negócios atinentes à fé”.
Num regimento mais tardio – o de 1640, que sistematiza e
explicita a prática anterior – lá aparece a série de crimes com
que abre o Livro V das Ord. fil.- apostasia (tit. VII), renegação
(tit. VII), heresia (tit. VII), cisma (tit. VIII), disputa de matéri-
as religiosas (tit. XI), blasfémia (tit. XII), desrespeito do
Santíssimo Sacramento ou dos Santos (tit. XIII), feitiçaria (tit.
XIV), bigamia (tit. XV), falsidade em assuntos religiosos (tit.
XIV), detenção de livros proibidos (tit. XX), perjúrio (tit. XXIV)
e sodomia (tit. XXV)541 . Ou seja, a partir daqui, os crimes
540 Pascoal de Melo um grande jurista (e, também, um grande penalista), que
escreveu na segunda metade do séc. XVIII. É autor de umas famosas lnstitutiones
iuris criminalis lusitani, Ulysipone, 1789, bem como de um projecto de código
criminal, pioneiro e muito avançado para a época. V., Hespanha, 1989.
541 Cf. U.A.S.; sobre a competência do Santo Ofício, em Portugal e em geral,
Fragoso, 1641, II, lib. v. disp. 13 per totam.
412
livro_antonio_m_espanha.p65 412 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
cujo conhecimento pertencia à Inquisição destacavam-se, em
virtude desta particularidade jurisdicional, formando uma
categoria a que o legislador passou a ser sensível, na arruma-
ção dos títulos do livro terribilis das Ordenações.
A heresia tinha uma longa tradição textual no direito
comum, em textos de direito romano ou em textos de direito
canónico(1). No direito peninsular, ele aparece na legislação
desde o início do século XIII542 .
Nas suas grandes linhas, era o seguinte o regime da
heresia segundo o direito comum:
(i) A heresia é, sobretudo, um delito “da vontade” e
não “do entendimento”; embora seja definida como
um “erro”, ela só era punida quando com o erro
concorressem a firmeza do ânimo e a pertinácia.
Daí as distinções feitas a partir da caracterização
psicológica do acusado (confitente v. inconfitente;
primário v. relapso).
(ii) É, em princípio, um delito de baptizados, ou seja,
de pessoas pertencentes ao grémio da Igreja, pois
só então estão sob a sua disciplina, da qual a disci-
plina temporal se entende como subsidiária543 . O
direito distinguia, de facto, a heresia da apostasia e
da infidelidade. A segunda só era excepcionalmente
542 Cf. lei de 1211, lei 3; Livro das leis e posturas, 10/11; Partidas, VII, 26, pr. e ss.
543 No entanto, um cânone do Sextum (V, 13) prevê a punição dos judeus conver-
tidos ao cristianismo e novamente tomados ao judaísmo.
413
livro_antonio_m_espanha.p65 413 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
punida. A terceira não era, em geral, punida. O
estatuto penal destes comportamentos religiosos
reflecte uma situação de pluralismo religioso. Na
verdade, o que se punia não era a diversidade de
religião, mas a violação da ortodoxia pelos que per-
maneciam no seio da Igreja. Nem esta se arrogava
o direito de punir os não crentes, nem o poder tem-
poral considerava o pluralismo religioso incompa-
tível com a unidade política da sociedade. Estas
oposições ir-se-ão esbatendo, à medida que se vai
estabelecendo a ideia de “religião do reino”, segun-
do a qual a violação do princípio da unidade religi-
osa equivalia ao crime de lesa majestade.
(iii) Só é punida a heresia manifesta, mas não já a come-
tida “nullo signo oris aut facti” (sem sinal oral ou de
facto), pois a Igreja não julgaria coisas ocultas.
(iv) É um delito cujo conhecimento compete aos tribu-
nais da Igreja(2).Mas como estes não podem apli-
car penas de sangue, devem entregar os réus a
punir corporalmente ao braço secular (Decretais,
v. 13, 1; 15, 1). Segundo uma opinião comum em
Portugal no século XV, o juiz secular a quem se
recorria não devia reapreciar o processo, mas ape-
nas limitar-se a aplicar a pena; mas as Ordenações
afonsinas e manuelinas prescreviam um papel mais
414
livro_antonio_m_espanha.p65 414 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
interveniente do juiz secular, na esteira de uma
opinião de Bártolo544 .
(v) As penas previstas na tradição jurídica são: a excomunhão;
a privação de ofícios e benefícios; a degradação; a inca-
pacidade jurídica; o confisco; a prisão e as galés; a infâ-
mia até à segunda geração; a morte pelo fogo.
As Ordenações recebem o regime do direito canónico,
reconhecendo a jurisdição da Igreja neste domínio545 . Mas,
de facto, o tribunal competente acabava por ser um tribunal
régio, o da Inquisição, a quem os tribunais seculares assegu-
ram toda a cooperação (Ord. fil.,II, 6). A distinção entre he-
resia, apostasia e infidelidade atenua-se, à medida em que
Igreja e poder vão preferindo o princípio da unidade religio-
sa ao do pluralismo; é o que acontece, nomeadamente, de-
pois da conversão forçada de judeus e mouros.
O que mais importa destacar, na ulterior evolução his-
tórica deste campo penal é que, com a secularização do di-
reito, que se nota na segunda metade do século XVIII, o regi-
me destes crimes passa a ser fundado na ofensa feita, não à
religião verdadeira, mas à religião estabelecida e à ordem
social de que esta faz parte. Neste sentido, não interessa, por
um lado, que a religião estabelecida seja verdadeira546 ; e, por
544 Cf. Amaral, 161O, v. “haeresia”, n. 16.
545 Plenamente, só as Ord. fil., v.I.
546 Cf. Pascoal de Melo, 1789, II, 1 “[...] a Nação, a qual dificilmente se pode
conceber sem alguma religião, verdadeira ou falsa”; critica ao ateísmo dos
livre-pensadores, II, 8).
415
livro_antonio_m_espanha.p65 415 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
outro, qualquer crime contra a ordem social pode ser conside-
rado como crime religioso. Pascoal de Melo chega a definir como
antireligiosos todos os actos que atentem contra os bons costu-
mes, as leis divinas, as naturais e até as civis (“todos os delitos
podem ser chamados eclesiásticos, estando sujeitos, no foro da
consciência, à punição da Igreja, às penitências, censuras e pe-
nas canónicas”, Pascoal de Melo, 1789, II, 2).
Assim, a heresia torna-se, antes de tudo, num “crime
público civil, pois se entende que todo aquele que ofende ou
despreza a religião pública destrói os mais fortes vínculos soci-
ais” (Pascoal de Melo, 1789, II, 4), originando “infinitas desor-
dens, tumultos e perturbações, que a mesma sociedade deve
acautelar” (Pascoal de Melo, 1844, 15). Daí que a punição ci-
vil deste crime não considere os aspectos espirituais, pois “os
homens não foram postos para vingar as ofensas feitas a Deus”
(ibid.) e, por isso, a gravidade do crime não seja avaliada pela
magnitude espiritual ou teológica das ofensas, mas pela medi-
da das perturbações sociais provocadas (v. g., sedições ou cri-
ação de partidos religiosos), pelo escândalo causado (cf. Pascoal
de Melo, 1844,24) ou pelo mal real provocado547 .
No plano da tipificação548 , a secularização leva a que se
prescindam de traços que apenas tinham significado numa
concepção puramente religiosa ou teológica do crime, como,
547 V. g., os feiticeiros não são punidos senão pela malícia e sofrimentos físicos a
que as beberagens derem causa, Pascoal de Melo, 1844, 9495; os perjúrios,
pelos prejuízos provocados a terceiros, Cod., VII; 1.
548 Isto é, da definição das condutas que integram certo tipo penal e a que,
portanto, corresponde uma certa pena.
416
livro_antonio_m_espanha.p65 416 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
por exemplo, a distinção entre hereges confitentes e inconfitentes.
E, pelo contrário, se introduzam novas distinções, estas relaci-
onadas com a perigosidade social dos actos (v. g, a distinção
entre heresia simples e heresia sediciosa, Cod., V, 6)(3).
No plano da natureza e medida da pena, as conse-
quências desta laicização do conceito de crime religioso são
também importantes. A pena deve corresponder, não à mag-
nitude da ofensa feita a Deus, mas à perturbação da ordem
social (cf. Pascoal de Melo, 1844, 20). Por outro lado, o sim-
bolismo religioso perde todo o sentido: a morte pelo fogo,
que se ligava a uma antiga ideia de purificação, é, agora
considerada como cruel e sem proporção com o delito. Por
isso, vão ser propostas novas penas, não apenas mais bran-
das, mas, sobretudo, com uma nova simbologia, espelhando
a ofensa, não a Deus, mas aos vínculos sociais. Estas novas
penas vão, então, encenar as consequências do delito, numa
dramatização em que o criminoso é o protagonista: ele, que
pôs em risco os vínculos sociais, vai ser objecto de uma des-
socialização, vai perder a consideração pública (infâmia), a
capacidade jurídica (confisco, incapacidade sucessória, per-
da de ofícios) e, finalmente, vai ser expulso do convívio so-
cial (degredo) (Cod., V).
Finalmente, no que respeita à competência jurisdicional,
a secularização do conceito de crime religioso exige que o seu
conhecimento compita a tribunais seculares. É por isso que o
próprio Pascoal de Melo elabora um projecto laicizante e
417
livro_antonio_m_espanha.p65 417 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
estatizante de regimento da Inquisição549 . O Tribunal do San-
to Ofício acaba por ser extinto por uma lei de 5.4.1821.
A punição da blasfémia tem também uma longa tradi-
ção jurídica550 . Na Península, as Partidas (VII, 28) estabele-
cem um sistema hierarquizado, que se comunicará às fontes
ulteriores. Esta hierarquização verifica-se, em primeiro lugar,
quanto ao autor da blasfémia (“quanto mas honrado, e mejor
lugar tiene, tanto peor es el yerro”)(4), estabelecendo-se uma
gradação que ia de rico homem a “otro orne de los meno-
res”551 . No plano do destinatário da ofensa, distingue-se en-
tre ofensa a Deus, à Virgem e aos santos. Distingue-se ainda
entre a blasfémia por palavras e a blasfémia por actos (v. g.,
cuspir na cruz ou feri-la com pedra ou faca).
Em Portugal, uma lei de 6.7.1315 (Ord. aj., v. 99, 1)
aplicava aos que blasfemassem contra Deus ou contra a Vir-
gem a pena de corte da língua e morte pelo fogo. Nas Orde-
nações (Ord. aj., tit. cit., Ord. man., v. 34 e Ord. fil., v. 2) reto-
mam-se, nos seus traços gerais, as distinções das Partidas.
Neste sistema de tipificação e de punição, que se
manterá até ao iluminismo, os traços mais interessantes
são os seguintes:
Em primeiro lugar, a promoção de uma visão hierar-
quizada, quer da sociedade terrena, quer da sociedade ce-
549 Sobre a política da coroa relativamente à Inquisição, no séc. XVIII, v., por
último, Marcos, 1990,29 ss.
550 Levítico, c. 24; D., 12,2, de jurejurando; Decretais, v. 26, c. 2.
551 Partidas, VII, 28.
418
livro_antonio_m_espanha.p65 418 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
leste. O grande é mais punido, não apenas porque sobre ele
recai uma maior responsabilidade, mas também porque a
sua punição constitui um exemplo para o pequeno (“punitio
maior est exemplum, timor et metus minorum”). Mas, dife-
renciando a pena segundo a qualidade do ofendido, desta-
ca-se, para além disso, a natureza hierarquizada da pró-
pria sociedade celeste, de que a da terra é o reflexo e, com
isso, o carácter sagrado da ordem.
Em segundo lugar, e agora no plano do sistema das pe-
nas, é interessante notar, não apenas a gradação das penas
em função do estatuto do criminoso, mas ainda a lógica desta
gradação. Com efeito, há penas que se aplicam a nobres –
multa e degredo – e penas que se aplicam a vilãos – açoites,
multa e galés. Ou seja, os nobres punem-se no património (mais
fortemente do que os vilãos) ou na honra (degredo). Os vilãos
punem-se no património, ou no corpo (por castigos físicos ou
trabalhos forçados). Não se trata apenas de um sistema puni-
tivo estatutário, mas ainda de uma manifestação da hierar-
quização dos bens honra/corpo/fortuna que não é o mesmo
para todos os homens. Para os nobres, o bem mais caro é a
honra, enquanto que o corpo, mero suporte da honra, não
constitui um objecto autónomo de punição. Para os vilãos,
não sendo a honra relevante, o bem mais caro é o corpo.
A feitiçaria é um outro dos crimes religiosos(5).
Em Portugal, uma lei de 19.3.1401 (Ord. af, v. 42, pr.)
pune as adivinhações para achar ouro e prata. Mas deviam
ser também punidas muitas outras práticas que se encon-
419
livro_antonio_m_espanha.p65 419 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
tram tipificadas, quer na tradição do direito comum, quer
nas Partidas552 . As Ordenações afonsinas (V, 42, 4) alargam a
punição (com a morte) a todo o tipo de feitiçaria. Na longa
justificação aí contida não se invocam os argumentos clássi-
cos das fontes romanas sobre os prejuízos que da feitiçaria
adviriam à saúde e tranquilidade dos homens, mas o seu
carácter de pecado, pela participação demoníaca que have-
ria em todas essas actividades.
Ao sistema das penas subjaz o mesmo princípio
estatutário, embora atenuado, e a mesma gradação dos bens
já antes encontrada.
Pascoal de Melo (Pascoal de Melo, 1789, pg. 81/82) dá
como ridículos as feitiçarias, encantamentos, filtros e augúrios
punidos pelas Ordenações e como desproporcionadas as penas
aí estabelecidas 553 . O que acontecera fora que, para o
racionalismo das Luzes, a magia deixara de ser crível; e, ape-
sar da insistência de algumas das fontes anteriores no tópico
dos prejuízos “naturais” (doenças, burlas) causados pelos fei-
tiços, é evidente que, por detrás da punição de certas práticas
– nomeadamente daquelas que apenas consistiam em rituais e
palavras (mala carmina) – estava a convicção da sua eficácia,
agravada pelo carácter insidioso e imparável dos processos.
552 Adivinhar em espelho, água, cristal ou coisa luzente, cabeça de homem mor-
to, animal, ou na palma da mão de menino ou mulher virgem; encantamentos;
feitiços de amor; beberagens. Permitidos são a astronomia e os encantamentos
benéficos (tirar demónios, desfazer nuvens de granizo, matar gafanhotos ou
pulgões). Uma lei de 22.3.1499 (cf. Ord. man., v. 33) acrescenta-lhes práticas
especificamente portuguesas (v. g., benzer com espada que tivesse passado
três vezes o Douro e Minho).
553 Cf. Cod., “Provas”, p. 28.
420
livro_antonio_m_espanha.p65 420 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Por fim, o perjúrio, violação de juramento (“aquele que
voluntariamente viola juramento; mentira produzida con-
tra juramento) 554 . Pelo direito civil, produzia infâmia (C.,
2,4, 41; D., 3, 2, 21) e era castigado com a flagelação (D.,
12, 2, 13, 6). No direito português, a punição aparece com
uma lei de 11.1.1302 (cf. Ord. af. v. 57, 1/2), em que se
punem o falso testemunho com a decepação de pés e mãos.
D. Afonso V. considerando estas penas excessivas estabele-
ce os açoites e o corte da língua (“porque pecam com ela”,
ib., n. 4). Nas Ordenações seguintes (Ord. man, v. 8; Ord. fil.,
54), a inclusão do perjúrio como crime religioso mantém-
se. Mas começam a notar-se sinais de laicização, quando se
multiplicam as ligações do perjúrio a outros crimes de fal-
so. Assim, a doutrina começa a entender que ele pode ser
cometido mesmo por pessoas não ajuramentadas, pelo que
o valor da fé pública, da confiança social (e, nomeadamen-
te, negocial) tende a sobrepor-se, cada vez mais, aos valo-
res estritamente religiosos. Ou seja, nos dispositivos simbó-
licos destinados a fazer respeitar a palavra dada, valores
jurídicos laicos, como o respeito do princípio pacta sunt
servanda, começam a equivaler às prescrições religiosas.
As soluções expressamente propostas na obra de Pascoal
de Melo555 , ou implícitas no seu sistema de tipos e de categori-
554 Por sua vez, o juramento era definido como “pedido, dirigido formalmente ou
virtualmente a Deus para que sirva como testemunha para confirmar a verda-
de daquilo que se afirma ou se promete”. V. Amaral, 1610, v. “juramentum”,
n. 36 ss.; Fragoso, 1641, p. 630, n. 115.
555 Pascoal de Melo, 1789, n, 17 ss.; -Pascoal de Melo, 1844,1. 7; “Provas”, 25 ss.
421
livro_antonio_m_espanha.p65 421 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
as, ratificam esta linha de evolução, considerando o crime como
essencialmente civil “pelo dano, que dele se segue ao público”
(Cod., p. 25) e porque “ofende e escandaliza os homens bons e
as leis publicas, que mandam observar todas as convenções e
promessas, e com especialidade as juradas” (p. 26).
5.2.1.2 Crimes contra a ordem moral
Sob a rubrica de crimes “morais”, Pascoal de Melo reú-
ne uma série de tipos que, na tradição doutrinal anterior, já
apareciam agrupados, embora com outros agora separados.
Os principais são o adultério, o estupro, e os crimes “contra a
natureza” (sodomia, bestialidade, masturbação).
A punição do adultério tinha obedecido a duas lógicas
diferentes, uma de direito romano, outra de direito canónico.
No direito romano, o adultério era considerado como uma
violação da “lei conjugal”, ou seja, da exclusividade que a
mulher deveria ao marido quanto às relações sexuais556 . O
que estava em causa era, fundamentalmente, o interesse fa-
miliar em impedir a turbatio sanguinis, a dúvida quanto à
paternidade dos filhos nascidos na constância do matri-
mónio557 . Por outro lado, requere-se a consumação das rela-
ções sexuais ou, mesmo, a gravidez558 .
556 Sobre o impensado das obrigações sexuais dos cônjuges, cf. supra.
557 “O adultério comete-se na mulher casada, sendo o seu nome assim composto
a partir de “parto concebido com outro”, D., 48, 5, 34, 1). Consequentemente,
o adultério apenas podia ser cometido pela mulher casada e pelo seu amante,
já não por homem casado com mulher solteira. Nem por mulher casada de
mau porte (exceptio plurium).
558 A doutrina estabelecia uma complicada casuística das relações amorosas que
configuravam o adultério, bem como dos factos que o indiciavam. Neste
422
livro_antonio_m_espanha.p65 422 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
No direito canónico, pelo contrário, o adultério é con-
siderado como a violação da fidelidade conjugal (Decretum,
C. XXXII, qu. 5, c. 15; C. 20-23), podendo, por isso, ser co-
metido por ambos os cônjuges. Para além de que o critério
de avaliação dos actos é naturalmente diferente e menos
rigoroso, aceitando-se a relevância de certas formas de adul-
tério por pensamentos559 .
Este diferente tratamento do adultério relaciona-se,
possivelmente, com duas economias da sexualidade e da fa-
mília, em conflito na cultura europeia desde a baixa Antigui-
dade. Uma, que alguns autores fazem corresponder a um
ambiente de recessão demográfica, de maior permissibilidade
sexual, embora limitada pela lógica da defesa da identidade
da família, enquanto instituição política. Outra, correspon-
dente a áreas ou épocas de plétora demográfica, dominada
por uma concepção negativa e restrita da sexualidade, que a
procurava confinar ao âmbito da família rigorosamente or-
ganizada em termos monogâmicos560 . O direito canónico e a
disciplina eclesiástica da família encarnam a promoção e
defesa deste segundo modelo, desenvolvendo uma acção com-
último plano, os juristas eram bastante estritos, não se contentando alguns
sequer com o facto de os amantes serem encontrados na cama, despidos (solus
cum sola, nudus cum nuda). Com este rigor probatório que se encontra também
noutros crimes sexuais (v. g., bestialidade e sodomia, v. Gomez, 1555, ad 1, 80,
n. 33 ss.) – procurava-se decerto limitar a perseguição penal destes actos. Mas
outros, mais rigoristas, consideravam já como adulterinos os actos preparató-
rios do coito (“veluti mutuis amplexibus, & osculis”, Barbosa, 1618, ad v. 38,
2, p. 31).
559 Corelia, 1744, pg. 66, ns. 1-2.
560 Cf. Goody, 1972.
423
livro_antonio_m_espanha.p65 423 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
binada para estirpar dos costumes europeus a sexualidade
extra-familiar, profundamente enraizada.
As Ordenações (Ord. fil., v. 25; 28; Ord. man., v. 15; 25;
Ord. fil., v. 7; 12; 20) seguiram, fundamentalmente, a via do
direito romano, com todas as suas consequências. Assim, o
adultério do marido não era, por via de regra, punido561 ; e o
da mulher só era considerado relevante quando tivesse havi-
do consumação de relações sexuais. Mas, neste caso, a lei era
muito severa na protecção dos interesses político-familiares,
o que era característico de uma sociedade onde prevaleciam
valores casticistas e linhagísticos: o adultério era, em geral,
punido com a morte, sendo o marido ofendido autorizado a
tirar desforço por suas próprias mãos (Ord. fil., v. 38). Legis-
lação extravagante da segunda metade do século XVIII (alv.
de 26.9.1769) reforçara ainda o carácter “familiar” dos inte-
resses protegidos, ao tornar a perseguição do crime totalmente
dependente de acusação do marido.
A análise do regime penal do concubinato reforça ain-
da a impressão de que, no seio desta tradição de enqua-
dramento penal das práticas sexuais, o que estava em causa
não era tanto a defesa de uma ordem moral, como a defesa
dos interesses da família enquanto grupo político. De facto, o
concubinato era permitido pelo direito romano (D., 25, 7 De
concubinis), tendo sido proibido apenas pelo direito canónico
Embora, de acordo com o “critério do pecado” (formulado
561 Ord. fil., v. 28, pr. (concubina “teúda e manteúda” no domicílio conjugal).
424
livro_antonio_m_espanha.p65 424 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
pela doutrina medieval acerca da hierarquia entre os dois
direitos e recolhido em Ord. fil., III, 64), tal proibição devesse
ter passado para o direito civil, o certo é que a nossa lei só
punia o concubinato de homem casado e, ainda assim, só no
caso de decorrer com escândalo público e, sobretudo, com
dissipação, a favor da concubina, do património familiar562 .
Tão pouco eram punidos o “coito vago” e o meretrício.
Apesar deste tom um tanto laxista da legislação – pelo
menos, em relação à sexualidade masculina – desenvolvia-
se, paralelamente, uma política sexual mais repressiva, am-
parada, sobretudo, pelo aparelho disciplinar da Igreja. De
facto, nas visitações, os bispos deviam inquirir dos casos de
concubinato e barregania, procedendo contra eles criminal-
mente, nos termos do direito canónico (cf. Ord. fil., II, 1,
13). Por influência destas visitações, surge legislação que
comete aos magistrados seculares o encargo de devassar
sobre os “pecados públicos” (cf. alvo 25.12.1608, 21 e 22) e,
segundo Pascoal de Melo, juízes “moralistas” chegavam a
punir o adultério simples (com mulher solteira) de homens
casados (Cod., “Provas”, 32). É justamente contra este
rigorismo – que perturbava, muitas vezes, a ordem familiar
estabelecida, levantando suspeitas falsas ou importunas –
que reage a legislação pombalina (cf. C.L. 19.8.1769, 12) e,
em geral, toda a doutrina iluminista.
562 Isto acontecia quando o marido sustentasse a concubina (Ord. fil., v. 28, pr.),
mas já não quando ele “tivesse o hábito da promiscuidade carnal” (Amaral,
1610, v. “concubinatus”, p. 218, col. 1).
425
livro_antonio_m_espanha.p65 425 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
No projecto de Codigo criminal, de Pascoal de Melo (t.
XI) acolhe-se uma concepção totalmente diferente da ordem
sexual, recebendo-se, em geral, a concepção canónica de adul-
tério, como violação da fidelidade conjugal; com isto, passa a
punir-se, tanto o adultério do marido, como o da mulher,
embora com penas diferentes, adequadas à diferente nature-
za do sexo segundo o “pensar geral da nação” (mas, afinal,
mais duras para a mulher) (cf. 6 e “Provas”, pp. 33-34). A
punição do adultério tende a libertar-se da primazia dos in-
teresses político-familiares (i. e., de defesa da legitimidade dos
filhos da mulher casada). Agora que a natureza contratual
do casamento começa a ser destacada, toma-se decisiva a
fidelidade, como manifestação do respeito pela palavra dada
(pacta sunt servanda). Ao mesmo tempo, o Estado chama a si
a defesa de uma certa ordem sexual, até aí mantida pelo di-
reito canónico. Com isto se anuncia o puritanismo da socie-
dade burguesa, que identifica a sexualidade permitida com a
sexualidade entre os cônjuges, embora admita, como válvula
de escape, uma promiscuidade sexual policiada e “exterior”
à sociedade oficial, proporcionada pela prostituição563 .
O regime penal do estupro confirma o modelo de valo-
rização da sexualidade a que nos vimos referindo.
O direito romano punia como estupro dois tipos de
conduta: ou as relações sexuais com virgem menor (puellae
defloratio, D., 48, 6, 34) ou as relações sexuais impostas a
563 O “coito vago” ou o “meretrício” não são punidos no projecto de Código de
Pascoal de Melo, embora sejam sujeitos a medidas de polícia (Cad., XI, 3).
426
livro_antonio_m_espanha.p65 426 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
uma mulher com violência (D., 48, 5, 6, 2 e Nov., 141 e
150), enquadrando-as no crime de violência. O direito mo-
derno tende a enfatizar mais a defesa dos valores familia-
res do que a defesa da “inocência”. António Cardoso do
Amaral, fundando-se numa opinião comum, defende que
“quem estupra uma virgem na casa do pai, comete rapto
de virgindade e aleivosia, mesmo que a não leve para outro
lugar, devendo ser punido com as penas dos raptores [...];
pois com o estupro não se ofende apenas a virgem, mas
também os seus pais e consanguíneos [... Em contrapartida],
quem estupra uma virgem que o quer e consente, a nada
está obrigado para com essa mulher, nem no foro da cons-
ciência, nem no foro contencioso, desde que a rapariga não
esteja sob o poder do pai, mãe, tutor, curador ou afim; pois
a mulher emancipada tem poder sobre o seu corpo quanto
ao foro externo e, nas suas coisas, cada um é o moderador
e o árbitro” (Amaral, 1610, v. “stuprum”, ns. 11-12). Ape-
nas se exigia que se não usasse fraude (dona, presentes,
blanditiae, carícias) para obter o consentimento. Os únicos
limites da sexualidade fora do casamento, para solteiros,
eram, portanto, as limitações impostas pela ordem familiar
e a proibição da violência ou do engano564 .
564 Alguns autores introduziam ainda outras restrições à sexualidade inter valen-
tes: as ordens clericais, certas relações político-sociais (v. g., entre ama e escravo
ou criado, entre tutor e tutelada, etc.), a diversidade de religião, bem como
aquilo que era considerado como a natureza do sexo (sobre este último ponto,
v. Gomez, 1555, ad 1. 80, ns. 5 ss.).
427
livro_antonio_m_espanha.p65 427 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Outra era a perspectiva dos canonistas, subsidiária da mo-
ral sexual da Igreja. Aqui, o princípio era o do carácter ilícito e
pecaminoso do coito, sobretudo se praticado fora do matrimónio
(“todo o outro coito é ilícito e reprovado pela lei divina [...] de
onde se deve fugir da fornicação como da peste”565 .
As Ordenações (Ord. fi/., v. 5; Ord. man., v. 14; Ord. fil.,
v. 18 e 23) recolhem, no fundamental, o sistema romano,
punindo como estupro as relações sexuais com violência (Ord.
fil., 18, 3) ou com virgem ou viúva, honesta e menor de 25
anos in patris potestate (ibid., v. 23, 3). A legislação extrava-
gante mais importante é constituída pelas leis de 19.6.1775 e
de 6.10.1784 (A.D.S.). A primeira visa proteger a familia con-
tra a utilização do estupro como forma de forçar casamentos
que os pais, de outro modo, não consentiriam. Para isso, à
estratégia canónica de reparar o pecado pelo matrimónio
subsequente opôs-se a de devassar oficialmente de tais cri-
mes e de aplicar aos culpados penas civis. O pecado perma-
neceria, mas os interesses políticos das famílias ficariam mais
salvaguardados. A segunda estratégia era a de, além de im-
pedir a queixa de estupro a mulheres (maiores de 17 anos)
que tivessem consentido nas relações sexuais, diferenciar as
penas aplicadas em função da idade das mulheres. Afinal,
reforça-se a protecção dos interesses familiares, mesmo com
o sacrifício da ordem “moral”. Tal é, também, a orientação
565 Mesmo no matrimónio, a castidade era a virtude máxima, pecando venial-
mente o marido “que só por causa do prazer e voluptuosidade tenha trato com
a mulher”, Gomez, 1555, ad 1. 80, n.º 3.
428
livro_antonio_m_espanha.p65 428 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
do projecto de Pascoal de Melo (tit. XII) que, porém, descrimi-
naliza o estupro de donzela com quinze anos feitos (XII, 10).
5.2.1.3 Os crimes contra a ordem política
Nos crimes contra a ordem política incluem-se a lesa-
majestade e a violência.
O tratamento penal da lesa-majestade remonta a dois
títulos do Corpus iuris civilis, D., 48, 4, ad legem Juliam de
magestatis, e c., 9, 8, id.. Nestes textos, a configuração do cri-
me é pronunciadamente estatalista: o crime é definido como
um delito contra o povo romano e a sua segurança. Esta tra-
dição é recolhida no Cód. visigót. (II, 1, 8), no direito
canónico566 e, mais tarde, nas Partidas (VII, 2)567 .
É justamente nas Partidas que surge uma segunda tra-
dição textual, bastante importante para o direito portugu-
ês, em que o crime de lesa-majestade é integrado no delito
mais geral de traição, este despido de qualquer conotação
estatalista e feito equivaler a uma ofensa praticada com fal-
sidade e vileza (VII, 2, 20). Em todo o caso, o texto distingue
a lesa-majestade ou traição (contra o rei, ou seu senhorio,
ou contra o bem comum da terra) do aleive (contra qual-
quer outro homem).
No direito português, a primeira providência legisla-
tiva sobre a lesa-majestade aparece com D. Afonso II (cf.
566 Decretais, n, C. 6, q. 1, c. 22; De poenit., D. 1, c. 9.
567 Sobre a história da lesa-majestade na doutrina do direito comum moderno, cf.
Sbriccolli, 1974.
429
livro_antonio_m_espanha.p65 429 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Ord. af., v. 2), numa lei em que a traição aparece confundi-
da, quer com a aleivosia, quer com a heresia: “[...] a saber,
se os davanditos trabalharam em nossa morte, ou de nosso
filho, ou de nossos parentes achegados, os quais temos que
são parte do nosso corpo, ou em morte de seu senhor, ou
hereges [...]” (Ord. af., v. 2, 1).
As Partidas influenciam decisivamente as Ord. af., bem
como o conceito aí subjacente de poder e de delito político.
Terminada a enumeração dos casos de lesa-majestade, o texto
afonsino passa (n. 22) – aplicando-lhe um regime punitivo
semelhante – para um crime que, embora se não chame “trai-
ção” ou “aleive”, corresponde ao acto aleivoso ou traiçoeiro
típico, ou seja, o acto daqueles que cometem alguma ofensa
contra seu amigo ou senhor, com traição ou aleivosia. O tra-
ço mais característico do regime das Ord. af. é justamente
esta não autonomização da ofensa feita ao rei em relação a
outras ofensas praticadas aleivosamente contra uma pessoa
comum. Dir-se-ia que, na escala de valores que subjaz à fi-
xação do tipo penal, o vínculo entre súbdito e rei se não dis-
tingue fundamentalmente do vínculo entre o homem e Deus,
entre o vassalo e o seu senhor, entre o amigo e o seu amigo e,
mesmo (como se comprovaria por outros textos, mesmo pos-
teriores, que aproximam o traidor do parricida), entre o fi-
lho e o pai. Com isto, é toda uma matriz de compreensão
dos vínculos políticos que se exprime. Pois estes aparecem
justificados, ao mesmo tempo, pelos deveres da religião, da
obediência, da amizade e da piedade familiar. Nestes ter-
430
livro_antonio_m_espanha.p65 430 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
mos, qualquer violação a este complexo resulta no mesmo
crime; embora, no seio do tipo penal, se estabeleçam
gradações. Se contrastarmos o texto das Ordenações com a
tradição anterior, parece que assistimos a uma progressiva
regressão do conceito de “Estado”, desde os textos “publi-
cistas” do Corpus iuris, passando pelas versões já menos níti-
das das Partidas, até desembocar num estado de obliteração
da especificidade do supremo poder e dos vínculos de de-
pendência em relação a ele.
Já as Ordenações seguintes marcam o advento, neste
plano, da consciência da especificidade do poder real. A lesa-
majestade é, agora568 , um crime especificamente dirigido con-
tra o poder supremo, embora a sua gravidade conheça
gradações consoante o carácter mais ou menos directo, mais
ou menos grave, da ofensa. Os conselheiros régios e os mag-
nates deixam de aparecer entre os protegidos pela punição;
o mesmo se passa com os senhores ou os oficiais subalter-
nos569 . Por outro lado, a lesa-majestade aparece, agora, cla-
ramente distinta da aleivosia, a que é dedicado um texto
independente mais adiante (tit. 37). O poder supremo é con-
cebido como intimamente relacionado com a pessoa do rei.
Enquanto que os textos romanos falavam do populus ou da
civitas, os textos medievais e modernos falam do rei, do seu
568 Cf. Ord.fil., v. 6.
569 Embora a questão fosse discutida (Cf. Farinnacius, 1606, q. 112, n. 136 ss.).
As Ord. fil. reservavam outros títulos para a tipificação das ofensas aos magis-
trados (v.g., tits. 48 ss.).
431
livro_antonio_m_espanha.p65 431 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
corpo, da sua família (ns. 1 e 21), do seu palácio (n. 24), da
sua imagem (n. 8), da sua presença pessoal (n. 7), das suas
ordens directas e pessoais (ns. 2-6, 23, 25-26). No conjunto,
o que sobreleva é uma concepção personalizada do poder,
em que o crime político é configurado, não como uma ofen-
sa feita à ordem política, seja quem for que a actue, mas
uma ofensa pessoal ao rei.
Com o iluminismo570 manifesta-se, em primeiro lugar,
a ideia da especificidade dos laços que ligam o vassalo ao
imperante. Isto salienta-o Pascoal de Melo, logo no início da
justificação do articulado relativo à lesa-majestade do seu
projecto de Código criminal:
a principal obrigação do súbdito é a fidelidade; e, por isso, o
maior crime que ele pode cometer é a traição, e lhe chamo alta
em diferença dos crimes particulares; porque o amigo infiel ao
seu amigo e bemfeitor, o criado ao amo, o clérigo ao seu bispo, e
o súbdito ao superior, não é tão criminoso e infiel, como aquele,
que o é à sua Pátria” (“Provas”, 36/37).
Por outro lado, o poder político despersonaliza-se. O
crime de alta traição ou lesa-majestade deixa de visar princi-
palmente a pessoa do rei, passando a dirigir-se contra a re-
pública, como todo politicamente organizado. Sendo assim,
embora o soberano desempenhe na organização política um
papel central e, por isso, seja aqui especialmente contempla-
do, todas as instituições e todos os magistrados são agora
defendidos pela punição da lesa-majestade. Daí que se passe
570 Sobre o crime de lesa-majestade no período pombalino, V. Marcos, 1990, 95 ss.
432
livro_antonio_m_espanha.p65 432 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
a punir, nesta sede, a sedição, o tumulto, a resistência aos
magistrados, delitos que, as Ordenações, eram punidos nou-
tros títulos (tits. 44-51).
5.2.1.4 Os crimes contra a ordem pública – a violência
A punição da violência tinha uma longa tradição tex-
tual571 . Na esteira das fontes romanas, distinguia-se entre
violência pública (vis publica) e violência privada (vis
privata); esta distinção não partia, no entanto, nem da quali-
dade das pessoas ofendidas, nem dos interesses ofendidos
pela acção violenta. Mas de certas características da acção
(como, v. g., o uso de armas). Entre os casos de violência pú-
blica estavam, por isso, arrumadas condutas tão diversas
como o estupro, a violação de uma casa pela força, a
usurpação violenta da posse, a convocação de homens ar-
mados para uma acção violenta, o abuso de poder por um
magistrado. O traço comum de todos estes tipos parece ser a
violação do monopólio “estadual” da força, como forma de
garantir a paz pública. Eram, assim, punidos todos os actos
que a violavam ou a colocavam gravemente em risco, quais-
quer que fossem o estatuto e a intenção dos seus autores.
Assim, a tradição romana da punição da violência insinua
uma concepção de violência que equipara a exercida sobre
pessoas privadas à que tem por objecto pessoas públicas ou
funções do soberano (ou seus magistrados).
571 D., 48, 6, ad legem Corneliam de vi publica; D., 48, 7, da legem Corneliam de
vi privara.
433
livro_antonio_m_espanha.p65 433 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
A tradição medieval portuguesa da punição da violência
é constituída por leis (cf. Ord. af., v. 35; 45; 50; 66; 76/77; 95/97;
106). Ao lado desta tradição prática, existe também uma tradi-
ção letrada572 que adaptava a casuística das fontes romanas ao
contexto político-social medieval, dando um novo relevo aos
tipos penais que correspondiam à política régia de instauração
de uma paz do rei proscrição da violência nos juízos, repressão
de violência dos clérigos, dos senhores e dos oficiais (sobretudo
“fiscais”), regulamentação das tréguas e pazes.
Em suma, o rei, como fonte da justiça (i. e., do equilíbrio da
ordem social “natural”), impõe a sua paz; ou seja, proíbe qual-
quer ofensa desta ordem, sobretudo por meios violentos graves.
Nas Ordenações seguintes, a violência tende a ser, so-
bretudo, a ofensa de pessoas públicas – nomeadamente, ofen-
sas ao corpo ou honra dos magistrados (cf. Ord. aj., v. 91;
104; Ord. man., v. 36; 75; Ord.fil., 48-51). Enquanto que (i) as
violências contra pessoas privadas, antes pertencentes a este
“campo”, passam a ser tratadas noutros contextos – v. g.,
violação e estupro, no dos crimes sexuais; usurpação violen-
ta de posse, no dos meios processuais de tutela da posse – e
(ii) a punição da vingança privada se toma cada vez menos
enfática (salvo no que respeita ao duelo, Ord. fil., v. 43).
A esta emergência do “público”, nomeadamente tra-
duzido na autoridade da camada burocrática, corresponde,
no plano doutrinal, uma reinterpretatio da distinção romana
572 Baseada no Cod. vis., VIII, I, de invasionibus et direptionibus, e nas Partidas, VII, 10.
434
livro_antonio_m_espanha.p65 434 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
entre violência “pública” e “privada”. No século XVI, Jacques
Cujas define a violência pública como “aquela que, contra o
direito, se exerce contra as pessoas públicas, que detêm im-
pério e poder”. Ou seja, a violência toma-se mais grave, não
já quando se manifesta pelo uso das armas, mas quando é
“sediciosa”, isto é, dirigida contra um magistrado573 .
5.2.1.5 Crimes contra as pessoas – a honra
No direito romano, todos os valores pessoais não
patrimoniais estavam protegidos pela punição das injúrias
(v. D., 47, 10, De iniuriis et famasis libellis). Apesar da tendên-
cia pós-clássica para a punição criminal de certas categorias
de injúrias, o sistema romano tende a tratar as injúrias ape-
nas sob o ponto de vista, “privatístico”, de ofensa de interes-
ses meramente individuais, ofensa compensável por uma
indemnização “de direito privado”574 .
Estes traços do regime do direito romano pesaram so-
bre o sistema medieval575 e moderno. O direito comum segue
esta mesma construção “privatista”, ao classificar as injúrias
como um delito privado, sujeito, antes de tudo, a uma acção
civil (e não penal), visando uma indemnização ao ofendido.
Na prática, o móbil de muitas acções de injúria era, de-
certo, o interesse económico. Mas, na imagética dos textos, a
573 É também este o sentido da distinção no projecto de Pascoal de Melo (tits. 16-24).
574 Não eram indemnizáveis senão os danos morais, mesmo no caso da ofensa
corporal, pois os danos físicos não poderiam ser objecto de avaliação, já que o
corpo de um homem livre não tinha preço (in hominis liberi corpore nulla corporis
aestimatio fie ri potest (cf. D., 9, 3, I, 5; D., 9, 3, 7).
575 Cf. Partidas, VII, 9.
435
livro_antonio_m_espanha.p65 435 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
actio injuriarum não prosseguia recompensas pecuniárias, pois
“a honra não se paga”. As fórmulas de estimação da indem-
nização constituem então prodígios de retórica que visam ava-
liar ... o inavaliável – “antes queria ter perdido ou não ter gan-
ho tal soma do que ter sofrido esta injúria”576 . Por outro lado,
a honra deixa de ser, nesta sociedade fortemente corporativa,
um bem puramente individual. Pois existem grupos de pesso-
as de tal modo ligadas que a ofensa feita a uma se reflecte no
património moral das outras. É o que se passa com a família
comunidade doméstica (cf. D., 47, 10, 1,3); mas a doutrina
tinha identificado outros grupos do mesmo tipo.
As Ordenações portuguesas não se ocupam expressa-
mente das injúrias (não corporais)577 , recebendo implicita-
mente o sistema do direito comum. Recebe, nomeadamente,
o regime “privatista” da punição. Longe de se comprometer
na vingança da honra de cada um, estabelecendo punições
“públicas”, “criminais”, a coroa deixava subsistir o sistema
de indemnização “provada”, canalizando todos os seus es-
forços no sentido de evitar meios violentos de reparação, como
o duelo ou a vingança privada(6).
5.2.1.6 Crimes contra as pessoas – o corpo.
Salvo no que respeita ao homicídio, a tradição textual
sobre os crimes contra o corpo das pessoas provém dos tex-
tos romanos relativos às injúrias (cf. D., 47, 10). As ofensas
576 V., por todos, Gomez, 1552, III, ch. 4, n. 7, p. 86
577 Excepções Ord. fil., v. 42, 50; v. 84.
436
livro_antonio_m_espanha.p65 436 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
corporais eram, portanto, apenas uma das espécies de injúri-
as, pelo que para elas vale tudo o que antes se disse, quer
sobre a natureza “simbólica” das ofensas, quer sobre o
carácter “privatista” da punição.
Pelo que toca ao primeiro ponto, é interessante desta-
car que a doutrina do direito comum pune duramente con-
dutas que, do ponto de vista da ofensa física, eram quase
irrelevantes – como as bofetadas, ou mesmo a ameaça de as
dar 578 . Como pune com extrema dureza a deformação do
rosto (“dar cutilada no rosto”, Ord. fil., v. 35, 7), pois nele se
reflectia a formosura de Deus.
Tudo isto leva-nos a uma conclusão mais geral. O corpo,
durante todo o período do direito comum, foi considerado como
um apêndice e suporte da honra. Por isso, as ofensas infligidas
ao corpo eram apenas encaradas – alvo nos casos extremos –
como atentados à consideração social devida. Daí que as
consequências físicas das feridas não fossem, em princípio, con-
sideradas para a fixação da indemnização579 ; como, por outro
lado, à mesma ofensa podiam corresponder punições diferen-
tes, considerada a qualidade das pessoas envolvidas.
578 Para a doutrina dominante, dar bofetadas constitui uma injúria atroz, que
dava lugar a uma pena que podia ir até à de morte, “de acordo com o estado
da pessoa que comete a injúria e do da que a recebe” (Gomes, 1552, III, ad.
cap. 4, n.º 5, p. 91).
579 A doutrina do direito comum introduzia uma excepção a este princípio: devia
avaliar-se a cicatriz ou deformidade causada a uma rapariga não casada, aos
escravos (e aos animais), pois nestes casos a integridade física tinha um valor
económico (v. Gomez, 1552, III, ch. 4, n. 12, p. 88).
437
livro_antonio_m_espanha.p65 437 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Pelo que respeita ao carácter privatista, o regime das
ofensas não se libertou facilmente deste traço típico do regi-
me das injúrias. Uma lei portuguesa da segunda metade do
século XIV (cf. Ord. af, v. 32) estabelece uma punição “crimi-
nal” para todas as feridas dolosas; mas as Ord. af. (V, 32,4)
voltam ao sistema romano, que se mantém nas seguintes(7).
5.2.1.7 Crimes contra a verdade
Os crimes de falso tipificavam, desde a época romana,
os atentados à verdade das coisas – “a falsidade é o delito
público que se comete quando alguém ciente e dolosamente
muda a substância da verdade em prejuízo de outrem”(8).
As Ordenações580 dão um relevo até aí desconhecido às falsi-
ficações cometidas por oficiais. O poder garante a verdade
dos actos, dos escritos, dos testemunhos, dos selos, do saber
dos oficiais. Pois todos estes elementos são, por sua vez, a
garantia da veracidade dos actos de comunicação com o po-
der (ou perante o poder). Em contrapartida, a verdade dos
escritos particulares (a comunicação entre particulares) não
é quase nunca protegida. A seguir, neste domínio de “verda-
de garantida”, aparece a da identidade pessoal, incluindo a
verdade do nome, da familia e do estatuto social, protegidas
pela punição dos partos supostos (Ord. fil., v. 55, pr.), da
apropriação dos nomes, títulos ou brasões (Ord. fil., v. 92).
Um outro domínio da verdade garantida é o da verdade das
580 Ord. af., v. 31; 37-40; 55; 60; 89; Ord. man., v. 7-9; 56; 59; 62; 64-65; 86;
Ord.fil., v. 52-59; 64-67; 71-74; 76.
438
livro_antonio_m_espanha.p65 438 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
coisas, ou melhor, de certas coisas estratégicas no seio das
relações sociais e económicas: a moeda (Ord.fil., v. 12), os
metais e pedras preciosas (Ord. fil., v. 56), os géneros alimen-
tícios (Ord. fil., v. 57 e 59), as medidas (Ord. fil., v. 58) e a
terra (Ord. fil., v. 67). Protegida, também, a verdade dos ne-
gócios (Ord. fil., v. 65: dupla venda da mesma coisa; Ord.fil.,
v. 68: falência fraudulenta) (9).
5.2.1.8 Crimes contra o património
Também o sistema moderno dos crimes contra o patri-
mónio é fortemente estruturado pela tradição textual romana.
No direito romano, as ofensas patrimoniais davam ori-
gem a acções privadas dirigidas à indemnização do ofendi-
do (actio furti, actio injuriarum, actio legis Aquiliae, a que
correspondiam os três grandes tipos de crimes de incidência
patrimonial – o furto, as injúrias e o dano), todas elas de
carácter fundamentalmente “privatista”, ou seja dirigidas à
indemnização do ofendido.
As sanções “criminais” que se encontram no sistema
moderno de punição destes delitos documentam uma pro-
gressiva “publicização” do campo581 . Daí que o direito co-
mum medieval, em vez de considerar o furto sobretudo como
um delito privado, ressarcível por meio de uma poena (com-
pensação do dano sofrido, por vezes agravada ao duplum ou
581 Esta publicização já se notava em textos romanos pós-clássicos, sobretudo
para ofensas patrimoniais violentas (roubo).
439
livro_antonio_m_espanha.p65 439 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
ao quadruplum), encara-o, predominantemente, como uma
ofensa à paz, cumulando a pena civil com uma sanção cri-
minal (pena de morte, cortamento de membro, flagelação).
Como dizem as Partidas (VII, 14, 17): “tomar [...] la cosa fur-
tada [...] pechar quatro tanto como aquello que valia [...]
Otrosi deven os judgadores [...] escarmentar os furtadores
publicamente com feridas de açotes”.
Em Portugal, existia uma tradição antiga de punição
criminal do furto (cf. Ord. aj, v. 65). Nas Ord. man. (V, 37),
estabelece-se o regime que se vai manter durante os séculos
seguintes (Ord. fil., v. 60): o furto é sempre objecto de uma
punição criminal, agravada no caso em que se verifiquem cir-
cunstâncias especiais, já previstas pelo direito comum clássico
(reincidência, coisa ou lugar sagrado, valor da coisa). Importa
realçar o significado da consideração do valor da coisa como
circunstância agravante do crime. Com isto, o furto ganha a
dimensão de um crime patrimonial, em que os principais valo-
res ofendidos são, não a paz (como nos crimes de violência,
dos quais eram aproximados as espécies mais graves de furto),
mas valores económicos. O património toma-se, agora clara-
mente, num objecto autónomo de protecção criminal582 .
O projecto de Pascoal de Melo representa a consuma-
ção desta tendência para a autonomização e progressiva
hegemonia da protecção dos valores patrimoniais sobre to-
582 Embora apareçam elementos de tipificação que remetem, ou para a protecção
de outros bens – nomeadamente, valores religiosos (Ord. fil., v. 60, 4) ou a paz
(Ord. fil., v. 60, 1; 61) – ou para antigas tradições textuais – v. g., a especial
punição da treincidência.
440
livro_antonio_m_espanha.p65 440 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
dos os outros. Em primeiro lugar, a importância determi-
nante do valor da coisa como critério de tipificação (Cod.,
XXXVI, 2-5). Depois, a força polarizadora do tipo penal
“furto” sobre outros tipos que, ainda que incluíssem tam-
bém ofensas a valores patrimoniais, anteriormente eram
encarados sobretudo do ponto de vista de outros valores
(v. g., a usura, o roubo de coisas sagradas, o cerceamento
de moeda). Agora, eles são considerados, sem mais, como
tipos de furto, assim se manifestando a supremacia que os
valores patrimoniais (digamos, a defesa da propriedade
privada) vão adquirindo na valoração penal.
5.2.2 A prática da punição
5.2.2.1 O direito penal da monarquia corporativa
O sistema penal da monarquia corporativa caracteri-
zava-se por uma estratégia correspondente à própria natu-
reza política desta. Ou seja, se, no plano político, o poder
real se confronta com uma pluralidade de poderes periféri-
cos, frente aos quais se assume sobretudo como um árbitro,
em nome de uma hegemonia apenas simbólica, também no
domínio da punição, a estratégia da coroa não está voltada
para uma intervenção punitiva quotidiana e efectiva.
De facto, a função político-social determinante do di-
reito penal real não parece ser, na sociedade “sem Estado”
dos séculos XVI e XVII, a de efectivar, por si mesmo, uma
disciplina social. Para isso lhe falta tudo – os meios
institucionais, os meios humanos, o domínio efectivo do es-
441
livro_antonio_m_espanha.p65 441 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
paço e, por fim, o domínio do próprio aparelho de justiça,
expropriado ou pelo “comunitarismo” das justiças popula-
res ou pelo “corporativismo” dos juristas letrados. A função
da punição parece ser, em contrapartida, a de afirmar, tam-
bém aqui, o sumo Poder do rei como dispensador, tanto da
justiça como da graça.
É nesta perspectiva que, a meu ver, deve ser lido o di-
reito penal da coroa. Feita esta leitura, nesta perspectiva, não
deixaremos de convir que, em termos de normação e puni-
ção efectiva, o direito penal se caracteriza, mais do que por
uma presença, por uma ausência. Vejamos como e porquê.
Comecemos por aspectos ligados à efectivação positiva,
por assim dizer, da ordem real.
Com esta se relaciona, desde logo, a questão da capaci-
dade que os juristas têm, no sistema do ius commune, de esta-
belecer autonomamente o direito. No entanto, como esta ques-
tão nos irá sobretudo interessar num ulterior momento,
deixemo-la por agora. Fixemo-nos, para já, no grau de apli-
cação prática da ordem penal legal.
Os dispositivos de efectivação da ordem penal, tal como
vinha na lei, careciam de eficiência. Primeiro, pela multipli-
cidade de jurisdições583 , origem de conflitos de competência
– descritos por muitas fontes como intermináveis –, que dila-
tavam os processos e favoreciam fugas de castigo. Depois,
pelas delongas processuais – de que todas as fontes nos dão
583 V., Hespanha, 1992, 41 ss.
442
livro_antonio_m_espanha.p65 442 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
conta –, combinadas com o regime generoso de livramento
dos arguidos, a que nos referimos. Finalmente – e é este o
tema que, agora, nos passa a interessar –, pelos condicio-
nalismos de aplicação das penas.
Condicionalismos de dois tipos. De natureza política,
isto é, relacionados com o modo como a política penal da
coroa se integrava numa política mais global de disciplina
régia; ou de natureza prática, relacionada com as limitações
dos meios institucionais, logísticos e humanos na disponibili-
dade da coroa. Comecemos por estes últimos e, no final, con-
cluiremos com os primeiros.
Tomemos para exemplo a pena de degredo. Quando
aplicada para o ultramar, ela obrigava a espera, por vezes
durante meses ou anos, de barcos para o local do exílio584 ; o
réu ficava preso à ordem da justiça, nas cadeias dos tribu-
nais de apelação, tentando um eventual livramento, aquando
das visitas do Regedor da Justiça. De qualquer modo, uma
vez executada a deportação, faltavam os meios de controlo
que impedissem a fuga do degredo.
As mesmas dificuldades existiam nas medidas, preven-
tivas ou penais, que exigissem meios logísticos de que a ad-
ministração da justiça carecia. Era o que se passava com a
prisão – de resto, raramente aplicada como pena –, que obri-
gava à existência de cárceres seguros, à organização de ope-
584 Isto levou a que se determinasse que o lugar do degredo fosse fixado generi-
camente (“para Angola”, “para o Brasil”), embora conheça decisões de degre-
do “para Bissau”, “para Cacheu”, “para a ilha do Principe”, “para o Maranhão”.
443
livro_antonio_m_espanha.p65 443 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
rações onerosas de transporte de presos (as odiadas levas de
presos), à disponibilidade de meios de sustento dos detidos,
embora parte do cibo corresse à conta destes. As únicas pe-
nas facilmente executáveis eram as de aplicação momentâ-
nea, como os açoites, o cortamento de membro ou a morte
natural. Mas como veremos de seguida, mesmo estas parece
terem sido, por razões diferentes, raramente aplicadas.
Vejamos agora o que acontecia com a mais visível das
penas – a pena de morte natural, prevista pelas Ordenações
para um elevado número de casos, em todos os grandes tipos
penais, salvo, porventura, nos crimes de dano585 . Prevista
tantas vezes que, nos fins do século XVIII, se conta que
Frederico o Grande, da Prússia, ao ler o livro V das Ordena-
ções, teria perguntado se, em Portugal, ainda havia gente viva
(a prática da masturbação era punida com a morte … 586 .
Na prática, todavia, os dados disponíveis parecem aconse-
lhar uma opinião bem diferente da mais usual quanto ao
rigorismo do sistema penal. Na verdade, a pena de morte
natural era, em termos estatísticos, muito pouco aplicada em
Portugal587 . Um autor que escrevia já nos inícios do século
XIX referia que em Portugal se passava “ano e mais” sem se
executar a pena de morte (Melo, 1816,50).
585 Ver os casos de aplicação de pena de morte ao período das Ordenações,
Correia, 1977.
586 Embora, no séc. XVIII, a Inquisição, para onde estes crimes eram remetidos
pelos juízos seculares, se contentassem, sensatamente, com umas brandas
penas espitituais.
587 Cf., com dados estatísticos, Hespanha, 1990.
444
livro_antonio_m_espanha.p65 444 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Esta não correspondência entre o que estava estabele-
cido na lei e os estilos dos tribunais não deixou de ser notado
pelos juristas. Conhecem-se tentativas de, por via da inter-
pretação doutrinal, pôr o direito de acordo com os factos.
Uma delas foi através da interpretação da expressão “morra
por ello”, utilizada nas Ordenações. Jogando por este facto de
que, para a teoria dp direito comum, a morte podia ser “na-
tural” e “civil” e que esta correspondia ao degredo por mais
de 10 anos(10). Já Manuel Barbosa entendia que tal expres-
são correspondia a exílio (perpétuo ) (11). A mesma era ex-
pressa em termos gerais, na opinião de Domingos Antunes
Portugal – “regularmente, onde quer que a lei fale de pena
capital, não se entende morte natural mas degredo”(12). Ain-
da no século XVIII, esta opinião fazia curso, agora fundada
numa opinião do desembargador Manuel Lopes de Olivei-
ra, que distinguia entre os casos em que a lei utilizava a ex-
pressão “morra por ello” ou pena de morte, sem outro quali-
ficativo – que corresponderiam à pena de morte civil – e “mor-
te natural” – que corresponderia à morte física. Com base
nisto; este autor apelidava os juízes que aplicavam indistin-
tamente a pena de morte natural como “práticos ignoran-
tes” (imperiti Pragmatici) e “carniceiros monstruosos” (imman-
issini camifices). Os argumentos do desembargador eram dé-
beis e a sua opinião, apesar de ter reunido alguns sufrágios
(nomeadamente de Paulo Rebelo, num Tractatus iure naturali
manuscrito) e de ser cotada de “a mais pia”, não chegou a
445
livro_antonio_m_espanha.p65 445 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
triunfar588 . Mas não deixa de ser curioso que, na polémica
gerada por esta opinião, ninguém acusou o desembargador
de laxismo ou a sua opinião de perigosa para a ordem social.
Na verdade, o que ele tentava fazer era justificar com argu-
mentos legais uma prática geral, por outros menos provo-
catoriamente fundada no poder arbitrário do juiz de ade-
quar a pena às circunstâncias do delito e do delinquente. Esta
diversidade de justificação não era, em si mesma, dispicienda.
Pois, como diremos, o segredo da eficácia do sistema penal
do Antigo Regime estava justamente nesta “inconsequência”
de ameaçar sem cumprir. De se fazer temer, ameaçando; de se
fazer amar, não cumprindo. Ora, para que este duplo efeito
se produza, é preciso que a ameaça se mantenha e que a sua
não concretização resulte da apreciação concreta e particu-
lar de cada caso, da benevolência e compaixão suscitadas ao
aplicar a norma geral a uma pessoa em particular. Por isso,
qualquer solução que abolisse em geral a pena de morte – v.
g., por meio de uma interpretação genérica dos termos da lei
– comprometia esta estratégia dual de intervenção do direito
penal da coroa. Juízes havia, no entanto, que se gabavam de,
em toda a vida, nunca terem ordenado ninguém à morte,
antes terem dela livrado muitos réus (Seco, 1880, 672).
O que se passava com a pena de morte, parece ter-se
passado – em grau porventura diferente – com algumas ou-
588 Sobre esta discussão, com exposição e crítica dos diferentes argumentos, v.
Repertório às Ordenações, maxime, IV, 40(a) e I, 434(b).
446
livro_antonio_m_espanha.p65 446 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
tras penas corporais, de que as fontes que utilizámos tam-
bém oferecem poucos testemunhos de aplicação.
Parece, em vista disto, que o leque das penas pratica-
das no plano do sistema punitivo régio ficava afinal muito
reduzido e, sobretudo, carecido de medidas intermédias. No
topo da escala, teoricamente, a pena de morte; mas, sobre-
tudo, o degredo, com todas as dificuldades de aplicação –
e consequente falta de credibilidade – a que nos referi-
mos. Na base, as penas de açoites – inaplicáveis a nobres
e, em geral, aparentemente pouco usadas, pelo menos a
partir dos fins do século XVII – e as penas pecuniárias.
Assim, e ao contrário do que muitas vezes se pensa, a
punição no sistema penal efectivamente praticado pela justi-
ça real do Antigo Regime – pelo menos até ao advento do
despotismo iluminado – não era nem muito efectiva, nem
sequer muito aparente ou teatral. Os malefícios ou se paga-
vam com dinheiro, ou com um degredo de duvidosa efecti-
vidade e, muitas vezes, não excessivamente prejudicial para
o condenado. Ou, eventualmente, com um longo e duro
encarceramento “preventivo”.
Ou seja, mais do que em fonte de uma justiça
efectiva ou quotidiana, o rei constitui-se em dispensador
de uma justiça apenas – e, acrescente-se, cada vez mais –
virtual. Independentemente dos mecanismos de graça e da
atenuação casuística das penas, que estudaremos a seguir,
o rigor das leis – visível na legislação quatrocentista e qui-
nhentista (a legislação manuelina tende a agravar o rigor e
447
livro_antonio_m_espanha.p65 447 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
crueldade da punição) – fora sendo temperado com estilos
de punir cada vez mais brandos.
Passemos, agora, ao pólo oposto da punição: o per-
dão ou, mais em geral, as medidas que, na prática, tradu-
ziam a outra face da intervenção régia em matéria penal
– o exercício da graça.
Tem sido ultimamente destacado o carácter massivo do
perdão na prática penal da monarquia corporativa589 . E tem
sido mesmo destacado que o exercício continuado do perdão
destruía o seu carácter imprevisto e gracioso e o transforma-
ra, pelo menos para certos crimes, num estilo e, com isto, num
expediente de rotina.
No plano doutrinal, este regime complacente do per-
dão radica, por um lado, no papel que a doutrina do gover-
no atribuía à clemência e, por outro, no que a doutrina da
justiça atribuía à equidade. Quanto à clemência como quali-
dade essencial do rei, ela estava relacionada com um dos tópi-
cos mais comuns da legislação do poder real – aquele que re-
presentava o príncipe como pastor e pai dos súbditos, que mais
se devia fazer amar do que temer590 . Embora constituísse, tam-
bém, um tópico corrente que a clemência nunca poderia atin-
gir a licença, deixando impunidos os crimes (justamente por-
que um dos deveres do pastor é, também, perseguir os lo-
bos)(13), estabelecia-se como regra de ouro que, ainda mais
589 Espera-se a publicação de um importante estudo de Luis Miguel Duarte
sobre o tema.
590 Cf. sobre o tema, largamente, Fragoso, 1641, I, 1.1, dispo 1, parág. 3 p. I, 2.
448
livro_antonio_m_espanha.p65 448 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
frequentemente do que punir, devia o rei ignorar e perdoar
(“Principem non decere punire semper, nec semper ignoscere,
punire tamen saepe, ac saepius ignorare officium regi um esse;
miscere clementiam, & severitatem pulchriu s esse”)591 , não
seguindo pontualmente o rigor do direito (“Ex praedicitis
infertur non esse sequendum regulariter, quod praecipuit jus
strictum ... summum ius, summam crucem [vel] injuriam”592 .
Este último texto aponta já para um outro fundamento teóri-
co da moderação da punição – ou seja, o contraste entre o
rigor do direito e a equidade de cada caso. Fundamento que,
valendo para todos os juízes – pelo que reservamos uma refe-
rência mais alargada para o momento em que tratarmos dos
fundamentos teóricos do poder arbitrário dos juristas, valia
ainda mais para o juiz supremo que era o rei.
Concluindo. Pelos expedientes de graça realizava-se
o outro aspecto da inculcação ideológica da ordem real. Se
ao ameaçar punir (mas punindo, efectivamente, muito pou-
co), o rei se afirmava como justiceiro, dando realização a
um tópico ideológico essencial no sistema medieval e mo-
derno de legitimação do poder, ao perdoar, ele cumpria
um outro traço da sua imagem – desta vez como pastor e
como pai –, essencial também à legitimação. A mesma mão
que ameaçava com castigos impiedosos, prodigalizava,
chegando ao momento, as medidas de graça. Por esta
dialéctica do terror e da clemência, o rei constituía-se, ao
591 Ibid., n. 53.
592 Ibid., n. 57.
449
livro_antonio_m_espanha.p65 449 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
mesmo tempo, em senhor da Justiça e mediador da Graça.
Se investia no temor, não investia menos no amor. Tal como
Deus ele desdobrava-se na figura do Pai justiceiro e do
Filho doce e amável.
Assim, o perdão e outras medidas de graça, longe de
contrariarem os esforços de construção positiva (pela ameaça)
da ordem régia, corroboram esses esforços, num plano com-
plementar, pois esta ordem é o instrumento e a ocasião pelos
quais se afirma ideológica e simbolicamente, em dois dos seus
traços decisivos – summum ius, summa clementia – o poder
real. Da parte dos súbditos, este modelo de legitimação do
poder cria um certo habitus de obediência, tecido, ao mes-
mo tempo, com os laços do temor e do amor. Teme-se a ira
regis; mas, até à consumação do castigo, não se desespera da
misericordia. Antes e depois da prática do crime, nunca se que-
bram os laços (de um tipo ou de outro) com o poder. Até ao
fim, ele nunca deixa de estar no horizonte de quem prevarica;
que, se antes não se deixou impressionar pelas suas ameaças,
se lhe submete, agora, na esperança do perdão. Trata-se afinal
de um modelo de exercício do poder coercitivo que evita, até à
consumação final da punição, a “desesperança” dos súbditos
em relação ao poder; e que por isso mesmo, tem uma capaci-
dade quase ilimitada de prolongar (ou reiterar) a obediência e
o consenso, fazendo economia dos meios violentos de realizar
uma disciplina não consentida.
Em comunidades em que os meios duros de exercício
do poder eram escassos, modelos que garantissem ao máxi-
450
livro_antonio_m_espanha.p65 450 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
mo as condições de um exercício consentido do poder eram
fortemente funcionais.
Tudo combinado – no plano da estratégia punitiva, do
funcionamento do perdão ou do livramento e da escala de
penas efectivamente aplicável e aplicada –, o resultado era o
de um sistema real/oficial de punição pouco orientado para
a aplicação de castigos e, finalmente, pouco crível neste pla-
no. O controlo dos comportamentos e a correspondente ma-
nutenção da ordem social só se verificava porque, na verda-
de, ela repousava sobre mecanismos de constrangimento si-
tuados num plano diferente do da ordem penal real.
A disciplina social baseava-se, de facto, mais em me-
canismos quotidianos e periféricos de controlo, ao nível das
ordens políticas infra-estaduais – a família, a Igreja, a pe-
quena comunidade593 . Neste conjunto, a disciplina penal
real visava, sobretudo, uma função política – a da defesa da
supremacia simbólica do rei, enquanto titular supremo do
poder punitivo e do correspondente poder de agraciar.
Para isto, nem era preciso punir todos os dias, nem se-
quer punir estrategicamente do ponto de vista dos interesses
de disciplina da vida social (i. e., punir os atentados mais
graves ao convívio social). Disto se encarregavam usando
tecnologias disciplinares diversas, os níveis infra-reais de or-
593 Sobre os poderes punitivos destas ordens infra-reais: (i) sobre o poder puniti-
vo do pater, Fragoso, 1641, I disp. I, 4 n.º 89 e III, dispo 3 parág. 2; 1610, S,V.
“pater”, n.º ss.; cf. Ord. fil., v. 38 e V. 95, 4 e respectivos comentadores; (ii) sobre
o poder punitivo da Igreja, V. o voI. II da mesma . obra, per totum.
451
livro_antonio_m_espanha.p65 451 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
denação. A justiça real bastava intervir o suficiente para lem-
brar a todos que lá no alto, meio adormecida mas sempre
latente, estava a suprema punitiva protestas do rei. Tal como o
Supremo Juiz, o rei devolvia aos equilíbrios naturais da soci-
edade o encargo de instauração da ordem social.
Por outro lado, para se fazer lembrar e reconhecer, para
manter a carga simbólica necessária à legitimação do seu
poder, o rei dispõe de uma paleta multímoda de mecanismos
de intervenção. Pode decerto punir; mas pode também agra-
ciar, assegurar ou livrar em fiança; como pode, finalmente,
mandar prender. Pode optar, isto é, tanto pelo meio
desgastante da crueza, como pelo meio económico do per-
dão. Ao fazer uma coisa ou outra, afirma-se na plenitude do
seu poder e no cabal exercício das suas funções. Pois – segun-
do uma conhecida máxima do início do Digesto – a realiza-
ção da justiça (leia-se, da disciplina social) exige uma es-
tratégia plural, em que, ao lado do medo das penas, figu-
ram os prémios e as exortações (non solum metu poenarumn,
verum etiam premiorum quoque exhortatione, D., 1, 1, 1, 1.).
Bibliografia citada
AMARAL, António Cardoso do, Summa seu praxis judicum,
Ulysipone, 1610.
BARBOSA, Manuel, Remissiones doctorum [...], Ulysipone, 1618.
CASTRO, Gabriel Pereira de, Tractatus de manu regia [...], Ulysipone,
1622-1625.
CORELIA, Jaime de, Pratica de confessionario, Coimbra, 1744.
452
livro_antonio_m_espanha.p65 452 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
CORREIA, Eduardo, “Estudo sobre a evolução das penas no direito
português”, BoI. Fac. Dir. Coimbra, (53), 1977.
FARINACCIUS, Prospero, Praxis, et theoricae criminalis [...], Lugduni, 1606.
FRAGOSO, Baptista, Regimen reipublicae christianae, Collonia
allobrogum, 1641-1652,3 tomos.
GOMEZ, António, Variae resolutiones [...], Salamanticae, ed. cons. Ope-
ra omnia, Ventiis, 1747.
GOMEZ, António, Commentarii in leges Tauri, Salamanticae, 1555; ed.
cons. Opera omnia, Ventiis, 1747.
GOODY, Jack, “The evolution of family”, in P. Laslett (ed.), Household
and family in past time, Cambridge, 1972.
* HESPANHA, António Manuel, “Da justiça” à “disciplina”. Textos,
poder e política no Antigo Regime”, Estudos em homenagem ao Prof
Eduardo Correia, Coimbra, 1986 (publ. em 1989).
MARCOS, Rui Manuel de Figueiredo, “A legislação pombalina”, Bol.
Fac. Direito de Coimbra, supl. (33), 1990, 1-314.
MELO, Francisco Freire de, Discurso sobre os delitos e as penas [...], Lon-
dres, 1816.
MELO, Pascoal de lnstitutiones iuris criminalis lusitani, Ulysipone, 1789.
MELO, Pascoal de, Codigo criminal intentado pela rainha D. Maria I, com
as provas, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1844.
PHAEBUS, Me1chior, Decisiones Senatus Regni Lusitaniae,
Ulysipone, 1619.
PORTUGAL, Domingos Antunes, Tractatus donationibus regiis [...],
Ulysipone, 1673.
SBRICCOLLI, Mario, Crimen laesae magestatis. II problema del reato politico
alle soglie della scienza penalistica moderna, Milano, 1974.
SECO, António Luiz de Sousa Henriques, Memorias do tempo passado e
presente [...], Coimbra, 1880.
453
livro_antonio_m_espanha.p65 453 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Bibliografia sugerida – As obras assinaladas com *.
Notas
(1) Cf., sobretudo, Cod. theod., XVI, 5, 43/52/54; c., 1,5, de hereticis et manicheis et
samaritiis; C., I, 7, de apostatis; C., I, 9, de iudeis et coelicolis; Dec. Grat., C. I, q. 5 e
C. I, q. 6; Decretais, v. 7; Sextum, v. 2.
(2) Note-se que uma concordata de 3.1.1416, atribui a natureza de “caso real”,
dependente da justiça real, a punição de judeus e mouros convertidos ao
cristianismo e que retomassem à antiga fé. Cf. Castro, 1610, I, ns. 175/176.
(3) Um outro exemplo de um elemento tipificador tornado inútil é a distinção
entre a ofensa à religião católica feita por um baptizado ou um não baptizado.
Tal distinção tinha antes sentido, na medida em que, na heresia, como violação
da ortodoxia, não podia cair senão um crente. No entanto, a extensão do
conceito aos não crentes tinha uma antiga tradição no direito português (lei de
3.1.1416, baseada num costume anterior e num texto do Corpus iur. cano (Sextum,
v. 13). Também o perjúrio já estava fortemente laicizado, pois a doutrina fazia
equivaler ao perjúrio a violação de compromissos tomados sem juramento
religioso (Barbosa, 1618, ad. Ord. fil. v. 54, n. 7).
(4) A regra de que ao mais digno se devia aplicar uma pena mais pesada aflora
frequentemente nas fontes romanas e canónicas. Baldo (§ si quis vero usu temerario
do tit. II, 53, de pace tenenda ods Lib. feud.) distinguirá: “ou pela nobreza se
aumenta a qualidade do delito, sendo o nobre mais punido; ou pela nobreza
não se aumenta a qualidade do delito e então o nobre é mais punido do que o
plebeu se se tratar de pena pecuniária; mas, tratando-se de pena corporal, o
plebeu é mais punido”.
(5) Tradição textual: Dec. Grat., II, C. 26, q. 1, C. 1 (“os feitiços são aquelas artes
pelas quais, sob a capa de uma religião fingida, se chamam os santos, se usa
da ciência da adivinhação ou se promete uma qualquer visão do futuro” (a
definição é de Santo Isidoro de Sevilha, Ethim., VIII, c. 9); qs. 3 e 4; C., IX, 18;
Partidas, VII, 23). Ord. aj., v. 42; Ord. man., v. 33; Ord. fil., v. 3. A feitiçaria era
um crime de foro misto, punido com penas eclesiásticas e civis. V. Barbosa,
1618, ad Ord., v. 3 a 5; Amaral, 1610, V. “sortilegium”; Fragoso, 1641, I, p. 1,
I. lI, p. 161 (dec. 4, § 6).
(6) No projecto de Código criminal de Pascoal de Melo, que aqui nos continua a
servir como modelo da política criminal iluminista, a principal novidade, no
que respeita ao tratamento penal das injúrias, consiste na punição “pública”
pelo encarceramento e multas a favor de obras pias. Ou seja, a honra particular
torna-se num bem público protegido pelo Estado. Embora o mesmo Estado
tenda a reduzir o âmbito dos actos capazes de injuriar, reagindo contra a
susceptibilidade exarcebada da sociedade de Antigo Regime às questões da
honra (cf. Hespanha, 1990).
(7) Cf. Hespanha, 1990. No projecto de Pascoal de Melo (tit. 34) estabelece-se uma
pena pública para os ferimentos, que acrescia à indemnização civil. Por outro
lado, a medida da pena é fixada segundo critérios funcionais e fisiológicos
(feridas mortais, perigosas, que causem deformação, simples).
454
livro_antonio_m_espanha.p65 454 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
(8) Gomez, 1555, ad I. 83 finalem, p. 337. As principais fontes são D., 48, 10, 3, que
contempla a falsificação de testamento, de documentos, de moeda, o uso de
nome falso, a venda da justiça, a venda dupla da mesma coisa, o parto supos-
to, a redacção de documentos que não correspondem à vontade das partes.
Cf., ainda, Partidas, VIl,7.
( 9 )Sobre a evolução dos crimes de falso nos finais do Antigo Regime, cf.
Hespanha, 1990.
(10) Phaebus, 1619, d. 156, ns. 5-10.
(11) Barbosa, 1618, ad Ord. v. 18,3, n, 10 [p. 298].
(12) Portugal, 1673, 1,2, C. 25, n. 53/5.
(13) Ibid., n. 42-42, 52, infine, p. 53 e 60-62. Na literatura clássica, estabelecera-se
uma larga polémica com os estóicos, para quem a clementia em relação aos
criminosos equivalia à licença. Mais tarde, penalistas iluministas reagirão, de
novo, contra o perdão, com idêntico fundamento.
455
livro_antonio_m_espanha.p65 455 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
5.3 Os limites do poder
A historiografia liberal, ao colocar a questão dos limites
do poder, era guiada, naturalmente, pela imagem que a teo-
ria política da época tinha do poder e da forma de o limitar.
Os limites do poder, no Estado oitocentista, mediam-se pela
existência, ou da divisão dos poderes, ou de instituições
representativas. Daí que, naturalmente, se aplicasse o mes-
mo critério às monarquias de Antigo Regime. E, assim, toda
a problemática dos limites do poder fosse reconduzida às
questões do carácter concentrado ou não do poder monár-
quico e da existência de cortes.
Claro que a limitação do poder também podia decorrer
do princípio da legalidade, que obrigava o Estado a respeitar
o direito, no decurso da sua actividade. Porém, uma vez que
a teoria jurídica oitocentista fazia equivaler o direito à lei e
esta era um produto da vontade estadual, tal limitação era
meramente formal. Só poderia deixar de o ser, se o direito
escapasse ao controlo do Estado, como o direito natural ou
uma qualquer espécie de direito criado por órgãos não esta-
duais (v. g, a actividade “livre” dos juristas).
Como já vimos (supra, 3.), esta era, justamente, a situação
do direito no Antigo Regime. Por um lado, ele era razoavelmen-
te independente do poder da coroa, pois se fundava em dados
“naturais” interpretados, com bastante independência, por um
corpo de juristas. A fonte da sua legitimidade não era a vontade
estadual, mas antes a ratio e a auctoritas dos juristas.
456
livro_antonio_m_espanha.p65 456 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Por outro lado, como também já vimos (supra, II.3), os
direitos (e também aqueles que hoje consideramos “direitos
políticos”) eram considerados como “coisas”, integradas no
património, e garantidas pelos processos jurídicos comuns
de garantia os direitos sobre coisas. Esta protecção era mui-
to efectiva; mas desenrolava-se no estrito plano do direito e
dos tribunais. Era aqui – e não, fundamentalmente, na rua
ou em assembleias representativas – que “a política”, quoti-
dianamente, se fazia594 .
O que acaba de ser dito já anuncia a linha que se vai
seguir na abordagem dos limites do poder. Não realçaremos
tanto aquilo que, no século XIX, vai ser considerado como
decisivo (como as cortes ou os mecanismos de participação
no poder) quanto aquilo que, na prática de resistência ao
poder da época moderna, era todos os dias accionado. Ou
seja, os meios de direito595 .
Meios de direito eram, desde logo, as consequências
práticas – i. e., no plano dos resultados jurídicos concretos596
– das concepções acerca das relações entre direito divino, di-
reito natural e direito terreno, entre razão (ratio) e vontade
(voluntas) como factor de geração do direito.
594 CL, sobre a justiça no quadro dos meios de resistência ao poder, Hespanha,
1993, 451 ss.
595 Sobre as formas de resistência ao poder na sociedade de Antigo Regime, v.
Hespanha, 1993, ibid..
596 E não, apenas, no plano da filosofia política e jurídica.
457
livro_antonio_m_espanha.p65 457 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
5.3.1 Os limites constitucionais
Era opinião comummente recebida, entre os juristas do
ius commune, que o poder dos reis era limitado, em função
mesmo do modo como lhes fora conferido. Na verdade, o
poder real ou proviria directamente de Deus ou procederia
dos homens. Em qualquer dos casos, fora conferido, antes de
tudo, tendo em vista o bem da sociedade597 . Testemunhos
deste carácter derivado e vinculado do poder real eram tan-
to as designações usadas nas Escrituras para referir os reis
(“pastores”, “ministros”, “administradores”), todas elas
apontando para um poder exercido em vez ou em benefício
de outrem, como a autoridade de autores antigos ou medie-
vais, nomeadamente de Aristóteles (Etica a Nicómaco, VIII,
10, 1160b, 7; Politica, III, 7, 1279b) e de S. Tomás (Sum. theol.,
II.II, 42, 2 ad 3; De regimine principum, III, 2, 133).
Da tradição textual sobre os limites do poder real faziam
ainda parte dois célebres textos do Digesto. Um deles era a
famosíssima “lei” princeps (D., 1,3,31) que dispunha que o prín-
cipe está liberto da obediência às leis (princeps a legibus solutus).
Outro, o fragmento D, 1,4,1, que dava valor de lei à vontade
do príncipe (quod principi placuit, legis habet vigorem), pois o
povo ter-lhe-ia trespassado, pela “lei régia”598 , o seu império e
597 Estas ideias são comuns aos juristas e teólogos peninsulares dos finais do séc.
XVI e inícios de XVII. Seguimos de perto a linha de exposição desenvolvida por
João Salgado de Araújo, num seu interessante texto sobre a “constituição” do
reino português (Araújo, 1627); cf. Também Suarez, 1612, 133 ss.
598 A “lei régia” era o acto pelo qual o povo romano, reunido em comício, atribuía
o poder ao Imperador.
458
livro_antonio_m_espanha.p65 458 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
poder. Ao comentar este acto instituidor das monarquias, os
juristas modernos consideravam, porém, que tal concessão do
poder fora condicionada, configurando uma espécie de con-
trato em que o príncipe se comprometera a usar do poder re-
cebido para “fazer e distribuir justiça, sustentar e defender a
religião”(1). E a esta condição teriam os príncipes ficado
irrevogavelmente obrigados, pois, por direito natural, estari-
am obrigados a honrar os contratos celebrados599 .
Estas opiniões dos juristas decorriam de concepções mais
gerais da doutrina política tardo-medieval e primo-moderna.
De facto, para a doutrina política dominante nos sé-
culos XVI e XVII, a respublica, como corpo político, não
era o produto das vontades de governantes e governados,
expressas num qualquer pacto político ou contrato social,
mas de uma ordem natural pré-estabelecida. Neste senti-
do, as cortes nem tinham constituído o corpo da república,
nem detinham em exclusivo a representação desta.
No entanto, pode ler-se em alguns autores que as cortes
constituem o fundamentum regni600 ou que o poder dos reis te-
ria sido instituído pelos povos, reunidos em cortes (comitia). É
aqui que tocamos uma das questões-chave da construção pri-
599 Este pacto obrigaria também por direito divino, pois esta eleição popular teria
sido apenas a concretização numa pessoa de uma disposição da ordem divina
da Criação segundo a qual as comunidades humanas devem dispor de gover-
no. Utilizando uma fórmula muito característica da época, dir-se-ia que, a
eleição popular constituia a matéria a que a vontade de Deus dava a forma
(Araújo, 1627, p. 7).
600 Cf. Portugal, 1673, I. 2, c. 24, n.5.
459
livro_antonio_m_espanha.p65 459 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
mo-moderna da teoria política das comunidades perfeitas,
desenvolvida, nomeadamente, pelos juristas ibéricos da Segun-
da Escolástica601 , que tentam combinar a concepção natura-
lista e objectivista da sociedade e do poder, dominante a partir
do século XIII (cf. supra, 2.1), com elementos da tradição polí-
tica e jurídica romana, que faziam da vontade dos povos o
fundamento da ordem política. Nos juristas, tratava-se de com-
binar, sobretudo, o contraste entre a ideia de uma ordem polí-
tica enraizada na natureza das coisas, que postularia uma re-
lação indisponível entre o governante e os governados, e os
textos jurídicos que, a propósito da lex regia de imperio (D.,
1,4,1) ou da constituição dos iura propria vel civilia (D., 1,1,9),
sublinhavam a eficácia da vontade dos povos no estabeleci-
mento da constituição política e do direito. Mas, mesmo fora
da tradição jurídica, existiam também referências à variabili-
dade das formas de governo(2).
Dado que, nestes termos, natureza e vontade (ou pacto)
aparecem como fundamento do governo faz com que uma
leitura menos atenta da teoria política desta época a aproxime
dos modelos contratualistas dominantes a partir do século
XVIII. E por isso é que vale a pena sublinhar um pouco mais os
601 Chama-se Segunda Escolástica à escola teológica que, depois do Concílio de
Trento retoma o ensinamento de S. Tomás, combinando-o, no entanto com
ingredientes (de sentido voluntarista e individualista) da Escolástica franciscana
do séc. XV. Os principais representantes desta escola são teólogos, dominicanos
ou jesuítas, peninsulares, nomeadamente provindos dos meios universitários
de Valhadolide, Salamanca, Coimbra e Évora. Sobre o pensamento político e
jurídico da Segunda Escolástica, Mattei, 1982, Grossi, 1973.
460
livro_antonio_m_espanha.p65 460 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
limites dentro dos quais vontade e pacto são eficazes na teoria
político-constitucional peninsular dos séculos XVI e XVII.
Esta digressão é, nomeadamente, importante, para fi-
xar o conteúdo dos conceitos centrais na teoria das cortes,
como os de “dualismo”, “pactismo”, “representação”.
Para dar conta da teoria política portuguesa do século
XVII, apoiar-nos-emos, nomeadamente, numa obra decisiva
da teoria política, publicada em Coimbra em 1613, por um
dos mais importantes teólogos da época – a Defensio fidei
catholicae adversus anglicanae sectae errores, com responsione ad
apologiam pro iuramento fidelitatis, et Epistolam ad Principes
Christianos Serenissimi Jacobi Angliae Regis, Coimbra, 1613(3).
O ponto-chave de toda a obra é o de saber se o poder
dos reis decorre ou não directamente de Deus. Francisco
Suarez concede que, em última instância (“tanquam prima
causa et universalis”, II, 2), todo o poder (como todas as coi-
sas) vem de Deus, como Criador do Mundo (I, 6; II, 2), embo-
ra, posta assim tão genericamente, a questão fosse inútil. Para
a reconduzir a um plano prático, seria, todavia, necessário
distinguir duas modalidades de criação. Uma originada por
um acto específico e próprio de vontade (“causam proximam
et per se”, II, 2); outra, efeito indirecto de um acto voluntário
que, criando qualquer coisa com uma certa natureza e finali-
dades específicas, cria ao mesmo tempo todos os atributos
(nomeadamente, os atributos políticos) que lhe convêm, sem
que, para isso, sejam necessários actos ulteriores de vontade.
461
livro_antonio_m_espanha.p65 461 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Aplicada ao poder em sociedade, esta tese provoca-
va uma “naturalização” dos poderes constitucionais, ou
seja, dos poderes que decorriam da própria natureza (da
ordem imanente) da sociedade. O poder de governo, nas
suas manifestações e finalidades superiores, não decor-
ria, assim, de um acto de criação ou de outorga especial de
Deus, mas, pelo contrário, da própria natureza da socieda-
de, tal como ela tinha sido modelada pela Providência. Se-
gundo as próprias palavras de Suarez, “uma vez constituída
a sociedade civil, a sujeição dos particulares ao poder públi-
co ou principado político é uma consequência da conserva-
ção conveniente da natureza humana” (I, 8). De tal modo
que se podia dizer que “o poder em abstracto foi conferido
por Deus aos homens na cidade ou na comunidade perfeita,
e não por um acto ou outorga especial ou positiva, diferente
da criação da natureza [da comunidade], decorrendo, por-
tanto, do acto primário da sua fundação. Por isso, em virtu-
de desta forma de outorga, o poder político não reside numa
só pessoa ou num corpo determinado, mas na totalidade do
povo ou do corpo da comunidade” (II, 5).
Pôr nestes termos a questão da origem do poder consti-
tucional era afirmar o carácter indisponível, para os reis e para
os homens, deste poder, afastando, neste plano, concepções
políticas de tipo voluntarista ou pactista. Pois não pode haver
pactos ou determinações voluntárias da ordem política quan-
do esta decorre da própria natureza da sociedade, ligada à
462
livro_antonio_m_espanha.p65 462 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
natureza do homem602 . A função (officium) do rei ou dos
súbditos está definida à partida e de forma necessária. Não
há, por isso, espaço para o arbitrário, nem do rei (actuando
contra o seu officium), nem dos súbditos (impondo ao rei limi-
tações incompatíveis com a natureza do seu poder)603 .
Que não é o facto que institui a constituição mostra-o
ainda uma consideração suplementar. Com efeito, sendo a
sociedade um corpo místico unificado, o poder “constitucio-
nal”, enquanto tal, deve ser um, residindo num só pólo,
independentemente da constituição concreta (pessoal ou co-
legial) deste pólo (I, 5, 6). Nesta medida, não havendo uma
dualidade de poderes, não há também fundamento teórico
para a ideia de “dualismo” – de dois poderes, o rei e o reino,
que se equilibram e se põem de acordo sobre a constituição
política –, ou para a de “pactismo”. Rei e súbditos fazem parte
da mesma unidade, o corpo místico da república. A forma
das suas relações políticas está fixada de antemão, não neces-
sitando de (não podendo) ser pactada. A sua representação
mútua é assegurada pelo seu carácter mutuamente simbiótico,
pela sua qualidade de partes da mesma entidade (pela sua
participação comum no todo). A manutenção dos equilíbrios
naturais da ordem política é assegurada, não por uma qual-
602 Ou melhor, pode haver factos, mas estes ou são inúteis (se corroboram a
ordem da natureza) ou ineficazes (se a contrariam).
603 Esta concepção naturalista, objectivista ou necessária dos laços jurídico-
políticos não era exclusiva da teoria constitucional; também a natureza da
família exigia um certo desenho (forçoso e limitador da vontade dos seus
membros) dos status do marido, da mulher, dos filhos, dos parentes, ete. (cf.
supra, IV.l).
463
livro_antonio_m_espanha.p65 463 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
quer forma de governo misto ou partilhado, pela existência
de instituições representativas, nem por uma qualquer for-
ma de pacto, mas pelo respeito, assegurado pelos órgãos de
justiça, dos direitos e deveres recíprocos (iustitiam dare, scl.,
ius suum cuique tribuere). E, se se fala em representação a pro-
pósito das cortes, não se trata senão da representação no sen-
tido de “manifestação pública e visível” do todo.
Contudo, há outros níveis de organização da respublica,
em que os membros do corpo político já têm poderes de dis-
posição. Já não se trata da ordem constitucional, mas antes do
regime político, do qual Aristóteles tinha estabelecido uma clas-
sificação tripartida bem conhecida. Os juristas também re-
clamavam para os povos a possibilidade de modelar o regi-
me, com base nos citados textos do Digesto, em que se referia
a possibilidade de o povo, através de actos de vontade, deci-
direm das leis da cidade e de identidade dos governantes.
A distinção deste dois níveis é muito importante para
distinguir e hierarquizar os diferentes planos nos quais se
põem as questões políticas. Assim, a existência ou não de ór-
gãos representativos dos governados era um problema de
regime, que devia ser discutido no plano (opinável) da bon-
dade ou oportunidade de cada regime ou forma de governo.
E não um problema que dissesse respeito à legitimidade últi-
ma (constitucional) do poder, pois esta apenas exigia que se
respeitassem as limitações do poder decorrentes da vincu-
lação deste ao bem comum, qualquer que fosse a forma de
464
livro_antonio_m_espanha.p65 464 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
garantir a eficácia destas. Eficácia que, em princípio, estaria
assegurada pela submissão dos governantes à justiça604 .
Em termos jurídico-constitucionais, esta dualidade das
fontes da ordem política está na origem da dualidade de pla-
nos em que actuam os mecanismos de limitação do poder.
Num plano, garante-se a legitimidade do poder, i. e., a
observância das normas de um governo justo. Num outro,
garante-se o cumprimento do pacto de regime605 .
O controlo do primeiro nível é garantido pelo primado
da justiça, que se manifesta, quer no plano da ética, quer no
da justiça estricta. Ao primeiro corresponde o estabelecimento
de órgãos encarregados de avaliar o cumprimento pelo rei
dos seus deveres de consciência. Tal era o caso da Mesa da
Consciência606 . No plano da justiça, a garantia de bom go-
verno repousava na existência de tribunais e de uma ordo
iudiciorum (ordem de juízo) bem estabelecida, bem como à
sujeição de toda a actividade política às regras de justiça. A
violação destes limites fazia com que o rei, ainda que o fosse
por um título legítimo, se transformasse num tirano quanto
ao exercício do poder (tyrania in exercitio).
Além deste controlo do primeiro nível, podia (ou não)
haver um segundo plano de controlo, estabelecido pelo pac-
to de governo. Era, nomeadamente, o caso dos regimes de-
604 Cf. Suarez, 1613, III, e. 35.
605 É certo que há uma relação entre o primeiro e o segundo, pois a violação do
pacto de regime constitui urna ofensa à justiça (precisamente à regra de que
“os pactos devem ser cumpridos”, pacta sunt servanda).
606 Araújo, 1627, I, 117.
465
livro_antonio_m_espanha.p65 465 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
mocráticos, oligárquicos ou mistos, em que o pacto designa-
va vários titulares para exercer, de forma combinada e equi-
librada, o poder. O que era levado a cabo pela instituciona-
lização de cortes, parlamentos ou dietas. Nestes casos, as com-
petências relativas de cada titular deviam ser rigorosamente
respeitadas. Em contrapartida, nos regimes monárquicos
puros, este segundo nível de controlo não existia.
No caso português, a generalidade dos autores incli-
na-se para a sua definição como “monarquia pura”(4). As
únicas limitações do poder do rei derivam da natureza do
seu officium, nomeadamente dos seus deveres para com a
justiça e a religião. Neste contexto, as cortes ou eram “jun-
tas” mais solenes, convocadas para aconselhar o rei nos
negócios mais graves e difíceis (ardua et difficilia negotia
regni)607 , ou eram congregações de particulares directamente
afectados pelas decisões projectadas pela coroa e que, nos
termos da teoria política de um “Estado guardião de direi-
tos” (Rechtsbewährungsstaat), deviam dar o seu acordo às
decisões que tocassem as suas esferas políticas608 . Em todo
o caso, esta concepção das cortes como instância de outor-
ga do consentimento das entidades interessadas, conduzia
a uma consequência, já presente no texto citado. Se as cor-
tes eram apenas um meio de representar os titulares dos
direitos ameaçados, podia haver outros meios de obter o
607 Araújo, 1627, I, 140 s.; Portugal, 1673, II, c. 24, n. 4.
608 “Quod omnes tangid ab omnibus approbari debet” [o que toca a todos deve
ser aprovado por todos]. Sobre as manifestações desta segunda concepção na
prática política portuguesa do séc. XVII, v. Hespanha, 1991, 1993.
466
livro_antonio_m_espanha.p65 466 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
seu consentimento, como a consulta particular, etc. Com o
que a reunião das cortes pode ser evitada, como, de facto,
se tentou em algumas conjunturas políticas seiscentistas.
De tudo isto decorria que o poder real, para além de
dever respeitar o primado da religião e, para alguns auto-
res 609 , do próprio Papado, devia também, ser racional, ou
seja, respeitar a razão da sua instituição. Absolutos deste
império da razão, reclamando-se de uma soberania sem li-
mites (“irregular”, i. e., sem regra), só “o imperador dos tur-
cos e os mais príncipes que vivem, sem lei, e sem vestígio nem
mesmo de razão natura1”610 .
O reconhecimento destes limites não era importante,
apenas, no campo da filosofia ou da doutrina políticas. Mas
também no plano do direito, pois era princípio jurídico bem
estabelecido que uma determinação contrária ao direito divi-
no611 , ao direito natural ou à razão natural não tinha valida-
de jurídica(5), podendo ser anulada em tribunal, a pedido de
titulares de interesses por ela ofendidos.
609 O mais notável é o cardeal Roberto Belarmino (15421621, Disputationes
christianae fidei, 1599, De summo Pontifice, 1559), que reflectia as posições pós-
tridentinas mais favoráveis à supremacia temporal do Papa.
610 Araújo, 1627, p. 23 v., n. 69, citando em seu favor Cabedo, 1601, I, d. 12, n. 9.
Embora não o refiram, os dois autores polemizam com Jean Bodin que, nos
seus Les six livres de la Republique (1576, I, 8) defendera, pela primeira vez, a
existência de um poder único e ilimitado dos reis, a que chamara “soberania”.
611 Contra a religião e a justiça não se deve obedecer aos reis, Araújo, 1627, n. 70
(funda-se em S. Tomés, S. th., II.II, q. 41, a. 3).
467
livro_antonio_m_espanha.p65 467 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
5.3.2 Os direitos particulares
Deixando de lado a questão da ofensa do direito divino
ou das isenções da Igreja, importa salientar que essa realiza-
ção da justiça a que os príncipes estariam obrigados consistia,
essencialmente, na realização da justiça, ou seja, no respeito
dos interesses particulares estabelecidos ou “enraizados”.
Debrucemo-nos, portanto, sobre a panóplia destes di-
reitos particulares e o seu sistema de defesa judicial.
Na análise dos interesses dos particulares, a doutrina do
direito comum, começava por distinguir os direitos adquiridos
(iura quaesita); os direitos a adquirir (iura quaerenda); e as me-
ras expectativas (spes). O direito adquirido é o que compete a
alguém, “de forma presente, perpétua e irrevogável”, poden-
do incidir sobre uma coisa corpórea ou incorpórea612 . O direi-
to a adquirir era o que, não existindo no presente, dependia de
um evento futuro (v. g., uma condição ou um termo)613 . A
mera expectativa distingue-se dificilmente do anterior, consti-
tuindo, na verdade, uma situação de expectativa menos forte
(como, v. g., a expectativa sucessória de outros herdeiros que
não os filhos). Uns direitos incidiam sobre coisas (iura in rem),
outros sobre acções, sobre umfacere, v. g., o cumprimento de
uma obrigação (iura ad rem).
612 Pegas, 1669, II, ad Ord. I, 3, gi. 9, c. n. 60.
613 Ibid., ad Ord. II, 96, c. 4, n. 62. Por exemplo, a expectativa de um filho
(herdeiro necessário) à herança de seu pai; o direito de um credor aos juros
ainda não vencidos.
468
livro_antonio_m_espanha.p65 468 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Todos estes direitos – e mesmo as expectativas mais for-
tes, do tipo iura quaerenda – eram invioláveis por determina-
ção individual (rescriptum) do príncipe. Mesmo por determi-
nação geral (lex) só seriam violáveis os direitos fundados na
lei positiva; mas não já os que tivessem uma fonte superior,
como o direito natural ou das gentes614 .
Assim, eram invioláveis, tanto por rescripto como por
lei: a propriedade dos súbditos615 ; os direitos surgidos de pacto
ou contrato616 ; os privilégios concedidos em virtude de um
serviço prestado ou a prestar (privilegia ob benemerita ou remu-
neratoria); mas não já os gratuitos, que cediam perante a lei
geral 617 ; os direitos adquiridos por sentença618 ; os direitos
adquiridos por nomeação testamentária619 -620 .
Os limites mencionados não eram, em todo o caso, ab-
solutos ou insuperáveis. Por um lado, o rei dispunha da fa-
culdade de rescindir os contratos injustos ou imorais. Por
outro lado, os direitos adquiridos não prevaleciam contra a
potestas extraordinaria (poder extraordinário) do príncipe,
poder que este podia invocar para satisfazer uma suprema
utilidade pública(6).
614 Em geral, sobre o tema, Suarez, 1612, p. 143 ss.
615 Sobre o caso da expropriação, v. Pegas, 1669, VII, p. 638 ss.; Fragoso, 1641, I,
p. 256, n. 32; Cabedo, II, dec. 75, n. 13; Febo, 1619, I, 94.
616 Fragoso, 164 I, I, p. 256; Cabedo, 1601, II, d. 75.
617 Fragoso, 1641, I, p. 33 e 256 n. 33; Cabedo, 1601, II, dec. 75; Portugal, 1673,
I, c. 2, n. 54 ss.
618 Pegas, 1669, VII, ad. Reg. Sen.., c. 20, n. 2 ss.
619 Portugal, 1673, lI, c. 2, n. 61 ss.; Fragoso, 1641, I, p. 256 n. 33.
620 Sobre alguns direitos em particular (provimento em ofício público, doações
régias), v. Hespanha, 1993, v. 3.
469
livro_antonio_m_espanha.p65 469 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
De facto, a teoria política reconhecia ao rei uma prer-
rogativa extraordinária, justificada por uma causa de su-
prema utilidade pública em que o rei, tal como Deus ao afas-
tar a lei da natureza no caso de milagre, violava os meca-
nismos ordinários da justiça (7). Tratava-se, em todo o caso,
de um meio extremo, para ser usado com sumo cuidado,
justificado sempre por uma suprema causa, evidente, super-
veniente, racional, extraordinária, e que nunca poderia ser
usada contra a consciência e a piedade. Caso contrário, tra-
tar-se-ia de “desordem ou tirania” (Portugal, 1673, n, c. 2,
16-18). Mesmo assim, o uso da potestas extraordinaria obri-
gava a indenização dos prejuízos causados e a restituição
do direito, passada a necessidade621 .
5.3.3 A tutela dos direitos
A tutela dos direitos particulares desdobra-se, em Por-
tugal, em dois momentos: antes da consumação do acto, por
meio do controlo prévio e oficioso da sua conformidade com
o direito; e, depois da sua consumação, tanto por meio do
instituto da nulidade ipso iure das decisões ilícitas do poder,
como por meio da faculdade, concedida aos prejudicados,
de se oporem à sua execução.
O controlo prévio da conformidade dos actos régios com
“as Ordenações ou Direito” (Ord. fil., I, 2, 2) competia ao
Chanceler-mor do Reino, que devia comprovar se as cartas
621 Exemplos de utilização deste poder: Portugal, 1673, II, c. 11,7 ss.
470
livro_antonio_m_espanha.p65 470 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
régias iam contra os direitos do rei, “ou contra o povo, ou
clerezia, ou outra alguma pessoa, que lhe quite ou faça per-
der seu direito”. Caso isto acontecesse, devia remetê-las, sem
as selar, ao Desembargo do Paço, para verificação.
Mas a tutela mais geral dos direitos dos particulares era
a efectivada pelos meios judiciários normais. Em Portugal, e
nos quadros gerais oferecido pelo direito comum, os recursos
dos particulares contra os actos do poder político lesivos dos
seus direitos eram vários. Em primeiro lugar, estava prevista a
nulidade das determinações do poder contrárias às Ordena-
ções ou “direito expresso” (Ord.fil., I, 2, 11; I, 30, 1.). Os juízes
deviam recusar-se a aplicá-las e os particulares podiam opor-
se à sua execução por meio de embargos622 . Outro tipo de re-
curso previsto na lei era o agravo ordinário (Ord. fil., III, 84, 4),
utilizável contra os actos ilegais e prejudiciais praticados por
oficiais e dotados de efeitos suspensivos. Por último, dado o
carácter patrimonial destes direitos, os seus titulares podiam
lançar meios de todos os expedientes processuais de manuten-
ção da posse, como os interditos.
Da frequência como eram usados estes meios de defesa
dos direitos dos particulares diz bem uma carta régia de 1634
(C.R. 20.3.1634), segundo a qual rara era a provisão régia de
ofício que não era embargada.
622 Também podiam pedir a declaração judicial da sua nulidade (cf Hespanha,
I 993a, 5.1).
471
livro_antonio_m_espanha.p65 471 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
Bibliografia citada
ARAÚJO, João Salgado de, Ley regia de Portugal, Madrid, 1627.
CABEDO, Jorge de, Practicarum observationum sive decisionum,
Ulysipone, 1601.
FEBO, Melchior, Decisiones supremi Senatus Regni Lusitaniae,
U1ysipone, 1619.
FRAGOSO, Baptista, Regimen reipublicae christianae, Lugduni, 1641 (ed.
cons., Collonia Allobrogum, 1737, 3 vols.
GROSSI, Paolo (dir.), La Seconda Scolastica nellaformazione deI diritto
privado moderno, Milano, Giuffre, 1973.
HESPANHA, António Manuel, “As cortes e o Reino. Da União à Res-
tauração”, Cuadernos de historia, moderna, Madrid, Univ. Complutense,
11.25-26, 1991,36 ss.
* HESPANHA, António Manuel, “A resistência aos poderes”, in J.
Mattoso (dir.), História de Portugal, IV (“O Antigo Regime dir. A.M.
Hespanha”), Lisboa, Círculo de Leitores, 1993), pp. 451-458.
* HESPANHA, António Manuel, As Vésperas do Leviathan [...], Coimbra,
Almedina, 1994.
MATTEI, Rudolfo de, Il pensiero politico italiano nell’ étà della contra-
riforma, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi Ed., 1982, 2 vols.
PEGAS, Manuel Alvares, Commentaria ad Ordinationes regni Portugalliae,
Ulysipone, 1669-1703, 12+2 toms.
PORTUGAL, Domingos Antunes (1673), Tractatus de donationibus regiis,
Ulysipone, 1673.
SUAREZ, Francisco, Tractatus de legibus ac Deo legislatore, Conimbricae,
1612 (ed. crítica dir. por Luciano Perefia, Madrid, C.S.Le., 1971.
SUAREZ, Francisco, Defensio fidei catholicae adversus anglicanae Sectae
errares [...], Coimbra, 1613 (ed. util., “Corpus Hispanorum de pace”
[com o título Principatus politicus], Madrid, 1972.
472
livro_antonio_m_espanha.p65 472 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Bibliografia sugerida – As obras assinaladas com *.
Notas
(l) A formulação concreta, de Araújo, 1627, p. 6 (também 7 V., n. 26; 24, n. 71 s.]).
(2) Cf. a referência de Aristóteles à variabilidade das formas de governo, de acordo
com as constituições pactadas de cada cidade, Politica, 2 e 3.
(3) O livro de Suarez é uma resposta, discretamente encomendada pelo Papa, às
obras de Jaime I de Inglaterra sobre o poder soberano e absoluto dos reis e sobre
o direito de exigirem um juramento de fidelidade dos súbditos. A ed. util. à a
do Corpus hispanorum de pace, Madrid, 1963.
(4) Cf., v. g., Araújo, 1627; Portugal, 1673, n, c. 24, ns. 21/22; 33/34; Pegas, 1669,
I, ad proem., gl. 101, n. 1.
(5) Já a contradição com a mera razão jurídica (do direito “civil” por oposto a
direito “natural”) importava uma consequência grave, mas menos radical:
uma determinação contra rationem iuris era insusceptível de ser estendida para
além do caso concreto a que dissesse respeito; cf. D., 1,3,14 (“o que é recebido
contra a razão do direito não deve ser levado às consequências [i.e., é
insusceptível de extensão]”, cf. ainda D., 1,3,15 e 16.
(6) Segundo Salgado de Araújo (Araújo, 1627, p. 23, n. 68) as espécies do poder
do príncipe são: (i) ordinário, sujeito às leis quanto à sua observância; (ii)
absoluto regulado, sujeito à razão e lei natural; e (iii) absoluto irregular. Este
último não competiria a ninguém, nem mesmo a Deus (“tal soberania com-
pete mais ao imperador dos turcos e aos mais príncipes que vivem, sem lei, e
sem vestígio, nem mesmo de razão natural [...]; mesmo o segundo modo de
poder nunca foi concebido pelo povo em virtude da Lei Régia a príncipe
nenhum, senão que foram eles que com ele se alçaram, o qual dizem que com
a tácita permissão dos povos, foi lançando raízes, de sorte que já hoje os reis
o têm e lhes convém para muitas coisas em ordem à recta administração da
justiça. (n. 69, p. 23 v.).
(7) Sobre a potestas absoluta vel extraordinaria, v. Portugal, 1673, n, c. 2, n. 16 ss.;
Cabedo, 1601, II, dec. 79; Fragoso, 1641, p. I, 1. 1, d. 3, ? 2, n. 211. Ainda que
as duas expressões sejam equivalentes, os autores usam a primeira (“absolu-
ta”) para designar o poder de decidir contra a lei e a segunda (“extraordiná-
ria”), para designar o poder de violar direitos de particulares.
473
livro_antonio_m_espanha.p65 473 11/11/2005, 03:02
livro_antonio_m_espanha.p65 474 11/11/2005, 03:02
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABREU, Sebastião de, Institutio parochi seu speculum parochorum,
Eborae, 1700.
ALBUQUERQUE, Martim de, Jean Bodin na Península Ibérica. Ensaio de
História das Ideias Políticas e de Direito Público, Lisboa, Centro Cultural
de Paris, 1978.
ALBUQUERQUE, Martim de, O Pensamento Político no Renascimento
Português, Lisboa, ISCSPU, 1968.
ALBUQUERQUE, Martim de, “Política, moral e direito”, in Estudos de
cultura portuguesa, Lisboa, Imprensa Nacional, I, 1985.
ALBUQUERQUE, Martim de, A Sombra de Maquiavel e a Ética Tradicio-
nal Portuguesa, Lisboa, Ins1. His1. Infante D. Henrique, 1974.
AMARAL, António Cardoso do, Liber utilissimus judicum [= Summa seu
praxis judicum, Ulysipone, 1610], ed. util. Conimbricae, 1740.
AMARAL, António Cardoso do, Summa seu praxis judicum,
Ulysipone, 1610.
ANDRADE, Alberto Banha de, Verney e a Cultura do Seu Tempo, Coimbra,
Acta Universitatis Conimbrigensis, 1966.
ANDRADE, Diogo Paiva de, Cazamento peifeito em que se contem
advertencias muyto importantes para viverem os cazados em quietação e
contentamento, [...], Lisboa, 1630.
ANTOINE, Gabriel S. J., Theologia moralis ad usum parochorum &
confessario rum, Romae, 1741.
ARAUJO, João Salgado de, Ley regia de Portugal, Madrid, 1627.
ATTALI, Jacques, Au propre et au figuré. Une histoire de la propiété, Paris,
Fayard, 1988.
livro_antonio_m_espanha.p65 475 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
BARBOSA, Agostinho, De canonicis aliis quae inferioribus beneficiariis
Cathedralium, et collegiatorum ecclesiarum, eorumque officiis tam in choro,
quam in capitulo, Romae, 1632a.
BARBOSA, Agostinho, Collectanea doctorum, qui in suis operibus varia
loca concilio Tridentini tractarunt, Lugduni, 1634b.
BARBOSA, Agostinho, De officio, et potestate parochi, Romae, 1632b.
BARBOSA, Agostinho, De officio, et potestate episcopi tripartita descriptio,
Romae,1623.
BARBOSA, Agostinho, Tractatus de foro ecc/esiastico universo,
Lugduni, 1634a.
BARBOSA, Manuel, Remissiones doctorum ... in I. 1, 2 & 3 Ordinationum
Regiarum, Ulysipone 1618.
BARROS, João de, Espelho de cazados, Porto, 1540.
BERNHARD, Jean, et alii, L’ époque de la Réforme et du Concile de Trente,
Paris, Cujas, 1990.
BETHENCOURT, Francisco, “As artes da confissão. Em tomo de ma-
nuais de confessores do séc. XVI em Portugal”, in Humanística e Teolo-
gia (lI) 1990, pp. 47-80.
BETHENCOURT, Francisco, O Imaginário da Magia. Feiticeiros,
Saludadores e Nigromantes no século XVL Lisboa, Univ. Aberta, 1987.
BOURDIEU, Pierre, “La force du droit. Éléments pour une sociologie
du champs juridique”, in Actes de la recherche en sciences sociales, 64
(1986.11) pp. 3-19 (trad. porto em P. Bourdieu, O poder simbólico,
Lisboa, Difel, 1990).
CABEDO, Jorge de, Decisionum ac rerumjudicatarum, Ulyssipone, 1601.
CABEDO, Jorge de, Practicarum Observationum sive decisiumum,
Ulysipone, 1601.
CABEDO, Jorge de, De patronatibus ecclesiarum regiae coronae Lusitaniae,
Ulyssipone, 1603.
CAETANO, Marcello, História do direito português [1140-1495], Lisboa,
Verbo, 1985.
476
livro_antonio_m_espanha.p65 476 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
CAETANO, Marcello, “Recepção e execução dos decretos do Concílio
de Trento em Portugal”, in Boi. Fac. Dir. Lisboa (19),1965.
CARNEIRO, Bemardino, Elementos de direito ecclesiastico portuguez,
Coimbra 1896 (2.ª ed.).
CARNEIRO, Manuel Borges, Direito Civil de Portugal, Lisboa, 1851.
CARVALHO, João de Tractatus de una, et altera quarta Falcidra [...J,
Comimbricae,1634.
CARVALHO, Joaquim de, “A jurisdição episcopal sobre leigos em
materia de pecados púlicos: as visitas pastorais e o comportamento
moral das populações portuguesas de Antigo Regime”, in Rev. Porto
Hist. (25), 1990, pp. 121-163.
CARVALHO, Joaquim de, As visitas pastorais e a sociedade de Antigo
Regime. Notas para o estudo de um mecanismo de normalização social,
Coimbra, polic., 1985a.
CARVALHO, Joaquim de, “Les visites pastora1es dans la diocêse de
Coimbre aux XVIe et XVIIe siêc1es- recherches en cours ”, in La recherche
en histoire au Portugal (l),1989c, pp. 49-55.
CARVALHO, Joaquim de, e PAIVA, J. P., “Repertório das visitas pas-
torais da diocese de Coimbra, sécs. XVII, XVIII e XIX”, Boi. Arq. Univ.
Coimbra (VII), 1985b.
CARVALHO, Joaquim de, e PAIVA, J. P. Matos, “A diocese de Coimbra
no século XVIII. População, oragos, padroados e títulos dos párocos”,
in Rev. Hist. Ideias, 11 (1989a), pp. 175-268.
CARVALHO, Joaquim de, e PAIVA, J. P., “A evolução das visitas pas-
torais na diocese de Coimbra nos séculos. XVII e XVIII”, in Ler História
(15) 1989b, pp. 29-41.
CASEY, James, História da Família (trad. porto de The history of the Family,
1989), Lisboa, Toerema, s/do (1991).
CASTRO, Gabriel Pereira de, Tractatus de manu regia, Ulysipone, 1622-
1625, 2 vols.
CAVANNA, A., Storia dei diritto privato moderno in Europa. I. Le fonti e il
pensiero giuridico, MiJano, Giuffre, 1982.
477
livro_antonio_m_espanha.p65 477 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
CHAVES, Castelo Branco (org.), O Portugal de D. João V visto por Três
Forasteiros, Lisboa, Biblioteca Nacional, 1989.
CLAVERO, Bartolomé, Mayorazgo. Propriedade feudal en Castilla, 1369-
1836, Madrid, Siglo XXI, 1974 (nova ed. remodelada, 1989).
CLAVERO, Bartolomé, “Lex regni vicinioris. Indicio de Espana en
Portugal”, in BoI. Fac. Dir. Coimbra, 1983.
CLAVERO, Bartolomé, Tantas personas como estados. Por uma antropología
política de la historia europea, Madrid, Tecnos, 1986.
COELHO, Maria Helena Cruz, O Poder Concelhio. Das Origens às cortes
constituintes, Lisboa, C.E.F.A, 1986.
COING, Helmut, Europiiisches Privatrecht. 1500 bis 1800, München,
Verlag C. H. Beck, 1985.
CORDEIRO, António, Resoluçoens theojuristicas [...]. V. De morgados, ou
capelas vinculadas, Lisboa OccidentaI, 1718.
CORELIA, Jaime de, Pratica de confessionario, Coimbra, 1744.
CORREIA, Eduardo, “Estudo sobre a evolução das penas no direito
português”, in BoI. Fac. Dir. Coimbra, (53), 1977.
COSTA, João Martins da, Domus Suplicationis Curiae Lusitaniae [...] styli
supremique Senatus consulta, Ulyssipone, 1622.
COSTA, Vicente José Cardoso da, Que he o Codigo civil, Lisboa, 1822.
CRUZ, Guilherme Braga da, “O direito subsidiário na história do direi-
to português”, in Revista Portuguesa de História, 14 (1975), pp. 177-316.
CURTO, Diogo Ramada, O Discurso Político em Portugal (1600-1650),
Lisboa, Universidade Aberta, 1988.
GOMEZ, António, Variae resolutiones [...], Salamanticae, ed. cons.
Opera omnia,Ventiis, 1747.
GOODY, Jack, “The evolution of family”, in P. Laslett (ed.), Household
and family in past time, Cambridge, 1972.
GROSSI, Paolo, II dominio e le cose, Milano, Giuffre, 1992.
GROSSI, Paolo, “La proprietà nel sistema privatistico de lIa Seconda
Scolastica”, in La Seconda Scolastica nella formazione deI diritto privato
moderno. Atti dell-Incontro di studio di Firenze, Milano, Giuffre, 1973.
478
livro_antonio_m_espanha.p65 478 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
GROSSI, Paolo, Le situazione reali nell’esperienza giuridica medievale,
Padova, Cedam, 1968.
GROSSI, Paolo, “Tradizione e modelli nella sistemazione post-unitaria
delIa proprietà”, in Quad. fior. per la storia del penso giur. moderno, 5/6
(1976-1977).
GROSSI, Paolo, L’ordine giurido mediovale, Bari, Laterza, 1995.
GROSSI, Paolo (dir.), La Seconda Scolastica nellaformazione del diritto
privado moderno, Milano, Giuffre, 1973.
GROSSI, Paolo (dir.), Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti
d’indagine e ipotesi di lavoro. Milano. Giuffre. 1986. 2 vols.
HESPANHA, António Manuel, “As cortes e o Reino. Da União à Res-
tauração”, Cuadernos de historia moderna, Madrid. Univ. Complutense.
11.25-26, 1991,36 ss.
HESPANHA, António Manuel, Economia de la Cultura en la Edad Mo-
derna, Madrid, C.E.C., 1993.
HESPANHA, António Manuel, La economia de la gracia (em publ. em
Hespanha,1994a).
HESPANHA, António Manuel, La grada del direcho. Economia de la cul-
tura en la Edad Moderna, Madrid, Centro Estudios Constucionales, 1993.
HESPANHA, António Manuel, História das Instituições. Épocas medie-
val e moderna, Coimbra, Almedina, 1982
HESPANHA, António Manuel, “A história das instituições e a ‘morte
do Estado’”, in Anuario defilosofia deI derecho, Madrid 1986a, pp. 91-227.
HESPANHA, António Manuel, “Da “iustitia” à “disciplina”. Textos,
poder e política no Antigo Regime”, Estudos em homenagem ao Prof
Eduardo Correia, Coimbra, 1986 (publ. em 1989).
HESPANHA, António Manuel, “o jurista e o legislador na construção
da propriedade burguesa-liberal em Portugal”, in Histórias das
instituiçoes. Textos de apoio, Lisboa, polic. 1979 (versão sem notas, An.
soc., 61-62 (1980) 211-236.
HESPANHA, António Manuel, “Justiça e administração entre o Anti-
go Regime e a Revolução”, in P. Grossi (ed.), Hispania. Entre derechos
proprios y derechos nacionales, Milano, 1990, I, pp. 135-204.
479
livro_antonio_m_espanha.p65 479 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
HESPANHA, António Manuel, “O materialismo histórico na história
do direito”, in A M. Hespanha, A História do Direito na História Social,
Lisboa, Livros Horizonte, 1978, pp. 9-69.
HESPANHA, António Manuel, “A nobreza nos tratados jurídicos dos
séculos XVI a XVIII”, in Penelope, 12, 1993
HESPANHA, António Manuel, “Para uma teoria da história político-
institucional do Antigo Regime”, in A M. Hespanha (dir.), Poder e Insti-
tuições na Europa do Antigo Regime, Lisboa, Gulbenkian, 1984, pp. 7-90.
HESPANHA, António Manuel, “Para uma nova história do direito?”,
in Vértice, 470-472, 1986b, pp. 17-33.
HESPANHA, António Manuel, “O poder, o direito e a justiça numa
era de perplexidades”, in Administração. Administração Pública de Macau.
(15) (1992a), pp. 7-21 (incluindo versão chinesa)
HESPANHA, António Manuel, Poder e Instituições no Antigo Regime.
Guia de estudo, Lisboa, Cosmos, 1992.
HESPANHA, António Manuel, “Représentation dogmatique et projets
de pouvoir. Les outils conceptuels des juristes du ius communedans
le domaine de l’ administration”, . Wissenschaft und Recht der Verwaltung
seit dem Ancien Régime, 1984, 1-28 (versão castel. em La gracia deI derecho
[...], Madrid, CEC, 1994).
HESPANHA, António Manuel, “A resistência aos poderes”, in J.
Mattoso (dir.), História de Portugal, IV (“O Antigo Regime dir. AM.
Hespanha”), Lisboa, Círculo de Leitores, 1993), pp. 451-458.
HESPANHA, António Manuel, “A Restauração portuguesa nos capí-
tulos das cortes de Lisboa de 1641”, Penélope. Fazer e desfazer a história,
(1993, pp. 29-60).
HESPANHA, António Manuel, “Savants et rustiques. La violence
douce de la raison juridique”, in lus commune (Max-Planck-Institut f.
europ. Rechtsgeschichte, Frankfu/Main), 10 (1983) 10 ss.
HESPANHA, António Manuel, “Sobre a prática dogmática dos juris-
tas oitocentistas”, in A M. Hespanha, A História do Direito na História
Social, Lisboa, Livros Horizonte, 1978, pp. 70-149.
HESPANHA, António Manuel, “Une autre administration. La cour
comme paradigme d’organisation des pouvoirs à l’époque modeme”,
480
livro_antonio_m_espanha.p65 480 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
Die Anfange der Verwaltung der Europ. Gemeinschaft (=Jahrb. f. europ.
Verwaltungsgesch., 4), Baden-Badcn, 1992.
HESPANHA, António Manuel, As Vésperas do Leviathan. Instituições e
Poder Político. Portugal-século XVII, Coimbra, Almedina, 1994.
HESPANHA, António Manuel (em colab.), “O Antigo Regime”, volu-
me IV da História de Portugal, dirigida pelo Prof. José Mattoso, Lisboa,
Círculo de Leitores, 1993.
HESPANHA, António Manuel (org.), Lei e Justica. História e Prospectiva
de Um Paradigma, Lisboa, Gulbenkian, 1993.
HOLUB, C., Teoria della ricezione, Torino, Einaudi, 1989.
LANDIM, Nicolau Coelho, Nova et scientifica tractatio [...] 1. De
Syndicatu, 1627.
LANGHANS, Franz-Paul de Almeida, “História das instituições de
direito público. Fundamentos jurídicos da monarquia portuguesa”,
in Estudos de Direito, Acta Universitatis Conimbrigensis, Coimbra,1957,
pp. 225-356.
LARRAGA, Francisco O. P., Promptuario de la theologia moral, ed. cons.
(3.3), Madrid, 1788, 2 tomos.
LEÃO, Duarte Nunes de, Leis extravagantes collegidas e relatadas por [...],
Lisboa, 1569 (ed. Univ. Coimbra, Coimbra, 1796).
LOBÃO, Manuel de A1meida e Sousa, (Terceira) Conferência sobre as
oblatas e aexpontaneidade dos seus offerentes, Lisboa, 1805.
LOBÃO, Manuel de Almeida e Sousa de, Discurso juridico, historico e
critico sobre os direitos dominicaes, e prova d’ elles .., Lisboa, 1819.
LOBÃO, Manuel de Almeida e Sousa de, Discurso sobre a reforma dos
foraes .... Lisboa, 1825.
LOBÃO, Manuel de Almeida e Sousa, Dissertações sobre os dízimos
ecclesiásticos e oblações pias, Lisboa, 1819.
LOBÃO, Manuel de Almeida e Sousa, Notas a Melo, Lisboa, 1828-1829.
LOBÃO, Manuel de Almeida e Sousa de, Notas de uso práticas e críticas
[...] a Melo, Lisboa, 1818.
481
livro_antonio_m_espanha.p65 481 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
LOBÃO, Manuel de A1meida e Sousa de, Tratado das acçoes recíprocas
[...] I. Dos pais para com os filhos [...]. II. Dos filhos para com os pais [...],
Lisboa, 1828.
LOBÃO, Manuel de Almeida e Sousa, Tratado pratico compendiario das
pensões ecclesiasticas, Lisboa, 1825.
LOBÃO, Manuel de Almeida e Sousa de, Tratado prático de morgados,
Lisboa, Imprensa Nacional, 1814.
MARCOS, Rui Manuel de Figueiredo, “A legislação pombalina”, BoI.
Fac. Direito de Coimbra, supl. (33), 1990, 1-314.
MARQUES, João Francisco, A parenética portuguesa e a Restauração. 1640
1668, Lisboa, INIC, 1989,2 vo1s.
MARQUES, Mário Reis, “Ciencia e acção: o poder simbólico do dis-
curso jurídico universitário do período do ‘commune’”, in Penélope, 6
(1992), pp.63-72.
MATIEI, Rudo1fo de, II pensiero politico italiano nell’étà della contro-
riforma, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi Ed., 1982, 2 vols.
MELO, Francisco Freire de. Discurso sobre os delitos e as penas [...], Lon-
dres, 1816.
MELO, Francisco Manuel de, Carta guia de casados, 1651.
MOLINA, Luís de, De hispanarum primogeniis [...], Compluti, 1573.
MOLINA, Luís de, Tractatus de iustitiae et de iure, Cuenca, 1593-1600.
MONCADA, Luís Cabral de, “Origens do moderno direito português.
Época do individualismo filosófico e crítico”, in Estudos de História do
Direito, Coimbra, Acta Universitatis Conimbrigensis, pp. 55-178, 1948.
MONTEIRO, Nuno Gonçalo, “As comunidades territoriais”, in J.
Mattoso (coord.), História de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, vol.
V (“O Antigo Regime”, dir. A. M. Hespanha), pp. 303-332.
MONTEIRO, Nuno Gonçalo, “Os concelhos e as comunidades”, in J.
Mattoso (dir.), História de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993-
1994, IV, pp. 333-380.
MONTEIRO, Nuno Gonçalo, “Revolução liberal e regime senhorial. A
“questão dos forais” na conjuntura vintista”, in Rev. porto hist.
(23),1988, pp. 143-182.
482
livro_antonio_m_espanha.p65 482 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
MONTEIRO, Nuno G., “Os sistemas familiares”, in J. Mattoso (dir),
História de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, vol. IV (“O Anti-
go Regime”, dir. A. M. Hespanha), pp. 279-282.
MOZZARELLI, Cesare, (ed.), “Famiglia” del principe e famiglia
aristocratica, Roma, Bulzoni, 1988,2 vo1s.
NATIVIDADE, Fr. António da, Stromata oeconomica totius sapientiae [...]
sive de regimini dmus, 01ysipone,1653.
OLIVEIRA, António de, “A violência do poder dos cavaleiros de S.
João no período filipino”, in Estudos em homenagem ao Prof Vitorino
Magalhães Godinho, Lisboa, 1988, pp. 263-276.
OSÓRIO, Bento Cardoso, Praxis de patronatu regio, & saeculari,
Ulyssipone, 1726.
PAIVA, Práticas e Crenças Mágicas. O Medo e a Necessidade dos Mágicos
na Diocese de Coimbra (1650-1740), Coimbra, Minerva Histórica, 1992.
PEGAS, Manuel Alvarez, Commentaria ad Ordinationes Pegni Portugaliae,
Ulysipone, 1669-1703, 12 tomos + 2.
PEGAS, Manuel Alvares, Tractatus de exclusione, inclusione, successione
et erectione maioratus, Ulyssipone, 1685.
PEREIRA, Isaías da Rosa, “As visitas paroquiais como fonte históri-
ca”, in Rev da Fac. Letras de Lisboa, 3.a série (15), 1973.
PEREIRA, João Cordeiro, “A renda de uma grande casa senhorial de
quinhentos”, in Primeiras jornadas de história moderna, Lisboa, EL. Lis-
boa, 1986, pp. 789-819.
PEREIRA, José Esteves, “A polémica do ‘Novo Código’”, in Cultura.
História e Filosofia, 1 (1982), p. 289 ss.
PEREIRA, José Esteves, O Pensamento Político em Portugal no Século XVIII.
António Ribeiro dos Santos, Lisboa, INCM, 1983.
PESCH, Otto Hermann, Tomás de Aquino. Límite y grandeza de una teolo-
gia medieval, Barcelona, Herder, 1992 (trad. castelhana).
PHAEBUS, Melchior, Decisiones Senatus Regni Lusitaniae,
Ulysipone, 1619.
PORTUGAL, Domingos Antunes, Tractatus de donationibus regilis
jurium & bonorum regiae coroane, Ulysipone 1673, 2 vols.
483
livro_antonio_m_espanha.p65 483 11/11/2005, 03:02
António Manuel Hespanha
PRAÇA, José J. Lopes, Estudos sobre o padroado portugilez [...], Coimbra, 1869.
PRODI, Paolo, Il soverano pontífice. Un corpo e due anime: la monarchia
papale nella prima étà moderna, Bologna, 11 Mulino, 1982.
REBELO, Femando, De obligationibus iustitiae et charitatis, Lugduni, 1608.
REINOSO, Miguel de, Observationes practicae ..., Olyssipone 1625 (ult.
ed.1725)
ROCHA, Manuel Coelho da, Instituições de Direito Civil Portugues,
Coimbra, 1848.
RODRIGUES, Luís Nuno, “Um século de finanças municipais: Cal-
das da Rainha (1720-1820)”, in Penélope, 1992, pp. 49-70.
RODRIGUES, Manuel Augusto “Tendência regalistas e episcopalistas
em bibliotecas de Coimbra do séc. XVIII”, in Revista de história das
ideias 10 (1988), pp. 319-326.
S. JOSÉ, Antonio de, Compendium sacramentorum in duos tommos
distributum universae theologiae moralis quaestiones, ed. cons.
Pampelonae, 1791.
SAMPAIO, Francisco C. de Sousa, Prelecções de Direito Pátrio, Público e
particular, Lisboa, 1793.
SANTOS, Antônio Ribeiro dos, “Notas ao titulo L Dos direitos reaes”,
in Notas ao plano do Novo Código de direito público de Portugal do Dr.
Pascoal José de Melio, feitas e apresentadas à Junta da Censura e revisao pelo
Dor... em 1789, Coimbra, 1844.
SANTOS, Antônio Ribeiro dos, De sacerdotio et imperio ..., Lisboa, 1770.
SANTOS, Antônio Ribeiro dos, “Sobre os tributos”, B.N.L FG 4677, fi. 75 ss.
Sapere ele potere. Discipline, dispute e professioni neli università medievale
e moderna. “Atti de! 4. o Convegno” (dir. L. Avellini, A. Cristiani, A. de
Benedicitis), Bologna, Comune di Bo1ogna, 1990.
SBRICCOLLI, Mario, Crimen laesae magestatis. Il problema dei reato politico
alie soglie delia scienza penalistica moderna, Milano, 1974.
SECO, Antônio Luiz de Sousa Henriques, Memorias do tempo passado e
presente [..], Coimbra, 1880.
484
livro_antonio_m_espanha.p65 484 11/11/2005, 03:02
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
SERRÃO, Joaquim Veríssimo, Livro das Igrejas e Capelas do Padroado
dos reis de Portugal (1574), Paris, Gulbenkian, 1971.
SERRÃO, Joel (dir.), Dicionário de história de Portugal, Lisboa, Iniciati-
vas Editoriais, 1963.
SILBERT, A1bert, “O feudalismo português e a sua abolição”, in Do
Portugal do Antigo Regime ao Portugal do Antigo Regime, Lisboa, Hori-
zonte, 1972.
SILVA, Ana Cristina Nogueira da, e A. M. Hespanha, “O quadro espa-
cial”, in 1. Mattoso (coord.), História de Portugal, Lisboa, Círcwo de
Leitores, vol. V (“O Antigo Regime”, dir. A. M. Hespanha), 1993 pp.
39-48, (abrev. A. D. S.)
SILVA, Antônio Delgado, Collecçáo de legislaçao portuguesa [1750-1820],
Lisboa, 1825-1830.
SILVA, José Justino de Andrade e, Coliecção chronológica de legislação
portuguesa (1603-1711), Lisboa, 1854-1859, (abrcv. J.J.A.S).
SILVA, Manuel Gonçalves da, Commentaria ad Ordinationes [...], 4 vo1s.,
Ulysipone,1731-1740.
SILVA, Nuno Espinosa G. da, História do Direito Português, Lisboa,
Gulbenkian,1985.
SILVA, Nuno Espinosa G. da, História do Direito Português. Fontes de
Direito, Lisboa, Gulbenkian, 1991.
SOARES, Franquelim Neiva, A arquidiocese de Braga no século XVI. Visi-
tas pastorais e livros de visitação, Porto, Fac. de Letras, dact., 1972.
SOARES, Franquelim Neiva, “A sociedade de Antigo Regime nos inqu-
éritos paroquiais do distrito de Braga”, in Revista theologiêa (13), 1978.
SOISA, José Roberto M. C. c., Sistema dos regimentos reais, 1783, Lisboa 6+3
vols. SOMOZA, Salgado de, Tractatus de regia protectione, Lugduni, 1669.
SOTO, Domingo de; De iustitia et de iure, Cuenca, 1556 (ed. fac-similada
e bilingue do Instituto de Estudios Politicos, Madrid, 1967).
SOTO, Domingo de, De iustitia et de iure, Salmanticae, 1556 (cd. cons.,
ed. bilíngue, Madrid, Inst. Est. Políticos, 1968).
SOUSA, Feliciano de Oliva e, Deforo ecclesiae tractatus, Conim-
bricae, 1648.
485
livro_antonio_m_espanha.p65 485 11/11/2005, 03:03
António Manuel Hespanha
SOUSA, José Joaquim Caetano Pereira e, Classes dos Crimes por Ordem
Systematica, Lisboa, 1816.
STOLLEIS, Michael, Geschichte des oeffentlichen Recht in Deutschland,
vol. I Reichspublizisti und Policeywissenschaft, 1600-1800, München, e.H.
Beck, 1988.
SUAREZ, Francisco, Defensio fidei catholicae adversus anglicanae Sectae
errores [...], Coimbra, 1613 (ed. utiI., [com o título Principatus politicus],
Madrid, 1972.
SUAREZ, Francisco, Opus de triplici virtute, fide. spe et charitate,
Mogunciae, 1622.
SUAREZ, Francisco, Tractatus de legibus ac Deo legislatore, Conimbricae,
1612 (ed. crítica dir. por Luciano Perefla, Madrid, e.S.r.c., 1971.
SUBTIL, José Manuel (1993), “Governo e administração”, in J. Mattoso
(dir.), História de Portugal, Lisboa, Cículo de Leitores, 1993-1994, IV,
pp. 157-193.
TELES,1. M. H. Correia, Digesto Portuguez, I Lisboa, 1835-1836 (ed.
cons. 1853).
THOMAZ, Luís Filipe e ALVES, Jorge Santos, “Da Cruzada ao Quinto
Império”, in A Memória da Nação, Lisboa, Livraria Sá da Costa Editora,
1991, pp.81-164.
THOMAZ, Luís Filipe, “L’idée impériale manueline”, in La
découverte. Le Portugal et l’Europe. Actes du Colloque, Paris,
Gulbenkian, 1990, pp. 35-103.
THOMAZ, Manuel Fernandes, Repertorio geral ou indice alphabetico da
legislação extravagante [...], Lisboa, 1843.
TORGAL, Luís Reis, Ideologia Política e Teoria do Estado na Restauração,
Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade, 1981-1982,2 vols.
VALASCO, Álvaro, Consultationum ac rerum judicatarum in regno
Lusitaniae, Ulysipone, 1588 (ed. cons. Conimbricae, 1730).
VALLEJO, Jesús, Ruda equidad, ley consumada [...]. La concepción de la
potestad normativa (1250-1350), Madrid, C.E.e., 1992.
VAZ (ou Valasco), Alvaro, Decisionum, consultatiomum ac rerum
judicatarum in Regno Lusitaniae, Upysipone, 1588.
486
livro_antonio_m_espanha.p65 486 11/11/2005, 03:03
DIREITO LUSO-BRASILEIRO NO ANTIGO RÉGIME
VAZ (ou Valasco), Alvaro, Quaestionum iuris emphyteutici,
Ulyssipone, 1591.
VILLEY; Michel, Cours d’histoire de la philosophie du droit, Paris, 1961-1964.
VILLEY, Michel, La formation de la pensée juridique modeme, Paris, 1968.
WIEACKER, Franz, História do Direito Privado Moderno (trad. porto
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit [...], 1967 (2.1 ed.), Lisboa, Gulbenkian, 1993.
XAVIER, Angela Barreto, & HESPANHA A. M., “A representação da
sociedade e do poder”, in História de Portugal, voI. IV “O Antigo Regime”,
dir. A. M. Hespanha, Lisboa, Círculo de Leitores, 1993, pp. 121-145.
487
livro_antonio_m_espanha.p65 487 11/11/2005, 03:03
livro_antonio_m_espanha.p65 488 11/11/2005, 03:03
Você também pode gostar
- A história do conceito de bonapartismo: Uma análise semântica aplicada aos séculos XIX e XXNo EverandA história do conceito de bonapartismo: Uma análise semântica aplicada aos séculos XIX e XXAinda não há avaliações
- MUCHEMBLED, R. Uma Historia Da ViolenciaDocumento31 páginasMUCHEMBLED, R. Uma Historia Da ViolenciaWillen Bispo0% (1)
- NEDER, Gizlene. Coimbra e Os Juristas Brasileiros.Documento20 páginasNEDER, Gizlene. Coimbra e Os Juristas Brasileiros.JoicinhaaaAinda não há avaliações
- Marieta de Moraes Ferreira - Demandas Sociais e História Do Tempo PresenteDocumento25 páginasMarieta de Moraes Ferreira - Demandas Sociais e História Do Tempo PresenteEdmar Victor Guarani-Kaiowá Jr.Ainda não há avaliações
- Assessoria Jurídica Popular - Christianny Diógenes MaiaDocumento142 páginasAssessoria Jurídica Popular - Christianny Diógenes MaiaLuiz Otávio Ribas100% (1)
- Definicoes Hist Oral PDFDocumento3 páginasDefinicoes Hist Oral PDFMakunaima KulaAinda não há avaliações
- O Conceito de Jaula de Aço WeberDocumento14 páginasO Conceito de Jaula de Aço WeberThalisson MaiaAinda não há avaliações
- Em Direção A Uma Nova Visão PDFDocumento34 páginasEm Direção A Uma Nova Visão PDFRegiane Regis100% (1)
- Sobre A Feitura Da Micro-História - José D'assunção BarrosDocumento20 páginasSobre A Feitura Da Micro-História - José D'assunção BarrosHelio Cordeiro100% (1)
- O Arcaísmo Como Projeto. Introdução. Fragoso, João. Florentino, Manolo. 2001Documento18 páginasO Arcaísmo Como Projeto. Introdução. Fragoso, João. Florentino, Manolo. 2001Gabriel CrivelloAinda não há avaliações
- Locke. Segundo Tratado Sobre o Governo Civil PDFDocumento2 páginasLocke. Segundo Tratado Sobre o Governo Civil PDFRodrigo BotelhoAinda não há avaliações
- José Carlos Reis - História e Verdade, PosiçõesDocumento28 páginasJosé Carlos Reis - História e Verdade, PosiçõesElizabeth Day100% (1)
- Classes e Luta de Classes Reflexao Critica Sobre As Classes Sociais Nas Obras de Nicos Poulantzas e Erik Olin WrightDocumento32 páginasClasses e Luta de Classes Reflexao Critica Sobre As Classes Sociais Nas Obras de Nicos Poulantzas e Erik Olin WrightJéssica Soares100% (1)
- Manifesto Dos MineirosDocumento6 páginasManifesto Dos MineirosAna Paula Moreira RodriguezAinda não há avaliações
- Dicas Sobre Tribunal Do Júri e Oratória ForenseDocumento2 páginasDicas Sobre Tribunal Do Júri e Oratória ForenseJosé Felipe FilhoAinda não há avaliações
- Sa Alexandre Franco de Do Decisionismo A Teologia Politica PDFDocumento38 páginasSa Alexandre Franco de Do Decisionismo A Teologia Politica PDFCamargo De Carvalho Oliveira100% (1)
- 1 - A Era Do Imprevisto - LivroDocumento11 páginas1 - A Era Do Imprevisto - LivroThays TeixeiraAinda não há avaliações
- 1887 - 3254590-Hayden White e A Crise Do HistoricismoDocumento29 páginas1887 - 3254590-Hayden White e A Crise Do HistoricismoGuilherme BombaAinda não há avaliações
- Melo FreireDocumento7 páginasMelo FreireIsabele Mello100% (1)
- Ansara, Soraia. (2012) - Políticas de Memória X Políticas Do Esquecimento: Possibilidades de Desconstrução Da Matriz Colonial. Psicologia Política, 12 (24), 297-311.Documento15 páginasAnsara, Soraia. (2012) - Políticas de Memória X Políticas Do Esquecimento: Possibilidades de Desconstrução Da Matriz Colonial. Psicologia Política, 12 (24), 297-311.Alessandro SilvaAinda não há avaliações
- 1 - André-Jean Arnaud (Ed.) - Dicionário Enciclopédico de Teoria e de Sociologia Do Direito - Positivismo JurídicoDocumento7 páginas1 - André-Jean Arnaud (Ed.) - Dicionário Enciclopédico de Teoria e de Sociologia Do Direito - Positivismo JurídicoRaquel P dos Reis0% (1)
- Leis Sobre o Furto de LenhaDocumento286 páginasLeis Sobre o Furto de LenhaViclaurentizAinda não há avaliações
- Corrupção e FoucaultDocumento138 páginasCorrupção e FoucaultGiovanna ToledoAinda não há avaliações
- A Prática Dos Castigos e Prêmios Na Escola Primária Do Século XIXDocumento15 páginasA Prática Dos Castigos e Prêmios Na Escola Primária Do Século XIXpedro pimentaAinda não há avaliações
- ALBUQUERQUE, Walmyra. Resenha Jogo Da Dissimulação. Pós AboliçãoDocumento7 páginasALBUQUERQUE, Walmyra. Resenha Jogo Da Dissimulação. Pós AboliçãoGoshai DaianAinda não há avaliações
- Programa Didatica Da HistóriaDocumento5 páginasPrograma Didatica Da Históriamendes_breno2535Ainda não há avaliações
- CLAUSEWITZ, Carl Von. Da Guerra. São Paulo: Martins Fontes, 1996Documento3 páginasCLAUSEWITZ, Carl Von. Da Guerra. São Paulo: Martins Fontes, 1996Luma GomesAinda não há avaliações
- Sílvia Petersen e Bárbara Lovato - Fontes para A HistóriaDocumento28 páginasSílvia Petersen e Bárbara Lovato - Fontes para A HistóriaIago AlmeidaAinda não há avaliações
- Fichamento - Umberto Eco - Como Se Faz Uma TeseDocumento11 páginasFichamento - Umberto Eco - Como Se Faz Uma TeseFabiano GabrielAinda não há avaliações
- A Judicializacao Da Politica No BrasilDocumento14 páginasA Judicializacao Da Politica No BrasilGuilherme VarguesAinda não há avaliações
- Lourenco Da Conceicao CardosoDocumento116 páginasLourenco Da Conceicao CardosoÉlida LimaAinda não há avaliações
- FICHAMENTO - A História Cultural - Entre Práticas e Representações - Roger ChartierDocumento2 páginasFICHAMENTO - A História Cultural - Entre Práticas e Representações - Roger ChartierBruno Felipe ArrudaAinda não há avaliações
- Carceres Imperiais A Casa de Correção Do Rio de Janeiro Seus Detentos e o Sistema Prisional No Imperio, 1830-1861Documento336 páginasCarceres Imperiais A Casa de Correção Do Rio de Janeiro Seus Detentos e o Sistema Prisional No Imperio, 1830-1861Wlamir SilvaAinda não há avaliações
- E Sônia Maria Dos Santos MarquesDocumento404 páginasE Sônia Maria Dos Santos MarquesAirsonAinda não há avaliações
- "Alguns Temas para Pensar A Mudança Social" - Augusto Santos Silva (1994)Documento23 páginas"Alguns Temas para Pensar A Mudança Social" - Augusto Santos Silva (1994)alice caulfieldAinda não há avaliações
- Clifford Geertz - Um Jogo AbsorventeDocumento24 páginasClifford Geertz - Um Jogo AbsorventeEliana A. S. GanamAinda não há avaliações
- A Economia Politica o Capitalismo e A EscravidaoDocumento41 páginasA Economia Politica o Capitalismo e A EscravidaoMatheus Galvani LofranoAinda não há avaliações
- O Direito Na Grécia Antiga.Documento8 páginasO Direito Na Grécia Antiga.Henrique LopesAinda não há avaliações
- Michelle PerrotDocumento2 páginasMichelle PerrotElaine Alves100% (1)
- LUKÁCS Bases Ontológicas Pensamento Atividade HomemDocumento10 páginasLUKÁCS Bases Ontológicas Pensamento Atividade HomemAline Louize Deliberali RossoAinda não há avaliações
- Ativismo Judicial e A Efetivação Dos Direitos Constitucionais No Brasil PDFDocumento173 páginasAtivismo Judicial e A Efetivação Dos Direitos Constitucionais No Brasil PDFDeivison MarinhoAinda não há avaliações
- FICHAMENTO Texto Khun, T. - A Prioridade Dos Paradigmas.Documento3 páginasFICHAMENTO Texto Khun, T. - A Prioridade Dos Paradigmas.Thiago Felício100% (1)
- A Indução AnalíticaDocumento9 páginasA Indução AnalíticamajorlocaoAinda não há avaliações
- CARDOSO Fernando Henrique IANNI Octavio Homem e Sociedade PDFDocumento332 páginasCARDOSO Fernando Henrique IANNI Octavio Homem e Sociedade PDFDinizLivrosAinda não há avaliações
- Visões de República - Almir BuenoDocumento314 páginasVisões de República - Almir BuenoElaine AmadoAinda não há avaliações
- BONELLI, Maria Da Gloria - O Mercado de Trabalho Dos Cientistas Sociais PDFDocumento15 páginasBONELLI, Maria Da Gloria - O Mercado de Trabalho Dos Cientistas Sociais PDFThiago De Menezes MachadoAinda não há avaliações
- De Certeau e A Operação HistoriográficaDocumento9 páginasDe Certeau e A Operação HistoriográficaJosi BroloAinda não há avaliações
- O Conceito de Experiência Histórica em Edward ThompsonDocumento11 páginasO Conceito de Experiência Histórica em Edward Thompsonsaraurrea0718Ainda não há avaliações
- A PolíticaDocumento6 páginasA PolíticaFábio Leonardo BritoAinda não há avaliações
- Serie Monografias 30+ +George+Marmelstein+ +COMPLETA+ +onlineDocumento588 páginasSerie Monografias 30+ +George+Marmelstein+ +COMPLETA+ +onlineFilippe AugustoAinda não há avaliações
- Por Uma Teoria Dos Direito e Dos Bens FundamentaisDocumento2 páginasPor Uma Teoria Dos Direito e Dos Bens FundamentaisAdriana Sousa Cunha100% (1)
- Jornal Como Fonte E/ou Objeto Da Escrita HistóricaDocumento21 páginasJornal Como Fonte E/ou Objeto Da Escrita HistóricaOslan Costa RibeiroAinda não há avaliações
- Da tradição coimbrã ao bacharelismo liberal: Como os bacharéis em Direito inventaram a nação no BrasilNo EverandDa tradição coimbrã ao bacharelismo liberal: Como os bacharéis em Direito inventaram a nação no BrasilAinda não há avaliações
- Gestão de Documentos em Minas Gerais: experiências e perspectivasNo EverandGestão de Documentos em Minas Gerais: experiências e perspectivasAinda não há avaliações
- Imaginários, Poderes e Saberes: História Medieval e Moderna em DebateNo EverandImaginários, Poderes e Saberes: História Medieval e Moderna em DebateNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Debates sobre Educação, Ciência e MuseusNo EverandDebates sobre Educação, Ciência e MuseusAinda não há avaliações
- História em Debate: Cultura, Intelectuais e PoderNo EverandHistória em Debate: Cultura, Intelectuais e PoderAinda não há avaliações
- O Prouni e o Projeto Capitalista de Sociedade: Educação da "Miséria" e Proletarização dos ProfessoresNo EverandO Prouni e o Projeto Capitalista de Sociedade: Educação da "Miséria" e Proletarização dos ProfessoresAinda não há avaliações
- As Ações de Liberdade no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro no Período entre 1871 e 1888No EverandAs Ações de Liberdade no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro no Período entre 1871 e 1888Ainda não há avaliações
- História, Historiografia e Pesquisa em Educação HistóricaDocumento17 páginasHistória, Historiografia e Pesquisa em Educação HistóricaRenataAinda não há avaliações
- A Utilização Das Linguagens Midiáticas NaDocumento18 páginasA Utilização Das Linguagens Midiáticas NaRenataAinda não há avaliações
- BITTENCOURT, Circe. Os Confrontos de Uma Disciplina Escolar Da História Sagrada À História ProfanaDocumento28 páginasBITTENCOURT, Circe. Os Confrontos de Uma Disciplina Escolar Da História Sagrada À História ProfanaRenataAinda não há avaliações
- BITTENCOURT, Circe. Autores de Compêndios e Livros de Leitura.Documento17 páginasBITTENCOURT, Circe. Autores de Compêndios e Livros de Leitura.RenataAinda não há avaliações
- O Império Do BrasilDocumento68 páginasO Império Do BrasilRenataAinda não há avaliações
- A Revolucao Pernambucana de 1817Documento31 páginasA Revolucao Pernambucana de 1817RenataAinda não há avaliações
- Manoel Borges Carneiro. Direito Civil. (V. 1) PDFDocumento350 páginasManoel Borges Carneiro. Direito Civil. (V. 1) PDFRenataAinda não há avaliações
- Visão TrópicosDocumento23 páginasVisão TrópicosRenataAinda não há avaliações
- Antigos Conceitos e Modernos Mestiçagem e EscravidãoDocumento228 páginasAntigos Conceitos e Modernos Mestiçagem e EscravidãoRenataAinda não há avaliações
- PensarDocumento678 páginasPensarRenataAinda não há avaliações
- RAMALHO. Uma Crítica Ao Essencialismo Identitário PDFDocumento18 páginasRAMALHO. Uma Crítica Ao Essencialismo Identitário PDFRenataAinda não há avaliações
- Estatistica Dos FluidosDocumento37 páginasEstatistica Dos FluidosGabriela PereiraAinda não há avaliações
- Caderno3LegislaoeNormasdaPGF2022AT10FEVEREIRO2022 DocxreparadoDocumento1.114 páginasCaderno3LegislaoeNormasdaPGF2022AT10FEVEREIRO2022 DocxreparadoJosiane GomesAinda não há avaliações
- Camila Veloso 0Documento75 páginasCamila Veloso 0Mariana NeriAinda não há avaliações
- Catalog - 12 - Cantoneira-Perfurada - PT - BRDocumento8 páginasCatalog - 12 - Cantoneira-Perfurada - PT - BRJaffet AlvesAinda não há avaliações
- O Império Do Grotesco (2002) PDFDocumento41 páginasO Império Do Grotesco (2002) PDFPedro Henrique Homrich100% (1)
- REsumo Ciencias 10 02Documento1 páginaREsumo Ciencias 10 02Jose Carlos SantosAinda não há avaliações
- Sociedade e Contemporaneidade 2018Documento114 páginasSociedade e Contemporaneidade 2018Valter AbbegAinda não há avaliações
- DIREITO CIVIL V Avaliando AprendizadoDocumento4 páginasDIREITO CIVIL V Avaliando AprendizadoGouvêa100% (1)
- Pei Dos Adaptados Vera CruzDocumento8 páginasPei Dos Adaptados Vera CruzdanielmatematicaufpeAinda não há avaliações
- Catalogo - Livros de Direito PDFDocumento207 páginasCatalogo - Livros de Direito PDFWilson CostaAinda não há avaliações
- Conclusão MelucciDocumento23 páginasConclusão MelucciPriscylla RamalhoAinda não há avaliações
- SomDocumento115 páginasSomMarcelo MiyanoAinda não há avaliações
- APHORT Manual Reconversao Reclassificacao v3.2Documento42 páginasAPHORT Manual Reconversao Reclassificacao v3.2César GasparAinda não há avaliações
- EbookMegatendncias Da Cincia Do Solo2030Documento181 páginasEbookMegatendncias Da Cincia Do Solo2030wehelbioAinda não há avaliações
- A Codificação - O Evangelho Segundo o EspiritismoDocumento12 páginasA Codificação - O Evangelho Segundo o Espiritismoapi-3715923100% (1)
- Descrição - Gestor de PessoasDocumento4 páginasDescrição - Gestor de PessoasSabrina BoeingAinda não há avaliações
- Técnicas de Fotografia Imobiliária PDFDocumento16 páginasTécnicas de Fotografia Imobiliária PDFRodson CyprianoAinda não há avaliações
- Modelo de Laudo EsDocumento2 páginasModelo de Laudo EsRicardo AndradeAinda não há avaliações
- Simulado de Anatomia CertoDocumento29 páginasSimulado de Anatomia CertoAthayde JoseAinda não há avaliações
- Acinetobacter Baumannii Multirresistente Como Uma Preocupação Emergente em HospitaisDocumento12 páginasAcinetobacter Baumannii Multirresistente Como Uma Preocupação Emergente em HospitaisFernanda LopesAinda não há avaliações
- Extranet VDO TacografoDocumento2 páginasExtranet VDO TacografoEdevaldo Santana0% (1)
- Ação de IndenizaçãoDocumento5 páginasAção de IndenizaçãoKelmaPK BenjamimAinda não há avaliações
- 4 Aula - ImunoglobulinasDocumento20 páginas4 Aula - ImunoglobulinasJakelline RezendeAinda não há avaliações
- Robert Faurisson (Quem Escreveu o Diário de Anne Frank)Documento76 páginasRobert Faurisson (Quem Escreveu o Diário de Anne Frank)Lusi Catorze Palavras60% (5)
- Escolas Públicas Canada - MeninosDocumento9 páginasEscolas Públicas Canada - MeninosNarayana DonadioAinda não há avaliações
- Documento Protegido Pela Lei de Direito AutoralDocumento40 páginasDocumento Protegido Pela Lei de Direito AutoralRochedao RogAinda não há avaliações
- Tendinopatia Do Tendão Calcâneo PDFDocumento32 páginasTendinopatia Do Tendão Calcâneo PDFRaone DaltroAinda não há avaliações
- A02 DobrasDocumento22 páginasA02 DobrasLex MHZAinda não há avaliações
- Schuh Engels e A Divisão Sexual Do TrabalhoDocumento5 páginasSchuh Engels e A Divisão Sexual Do TrabalhoLucMorAinda não há avaliações
- IIPC - Introdução A Projeciologia (Wagner Alegretti)Documento24 páginasIIPC - Introdução A Projeciologia (Wagner Alegretti)Frater T.A.S.100% (1)