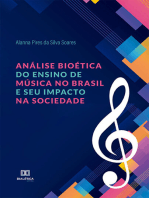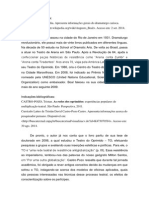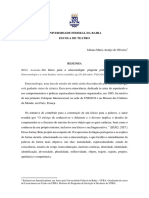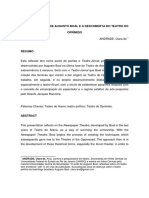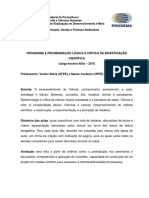Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Augusto Boal Teatro para A Transformacao PDF
Augusto Boal Teatro para A Transformacao PDF
Enviado por
ChristopherAlvesGuimarãesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Augusto Boal Teatro para A Transformacao PDF
Augusto Boal Teatro para A Transformacao PDF
Enviado por
ChristopherAlvesGuimarãesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Augusto Boal:
teatro para a transformação
Irene Leonore Goldschmidt
34
Farmacêutica Bioquímica Sanitarista, com mestrado em Educação Profissional em Saúde. Trabalha na Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro desde 2002. E-mail: irenegolds@gmail.com
ouvirouver Uberlândia v. 7 n. 1 p. 34-45 jan.|jun. 2011
n Resumo
Embora o uso do teatro para mediar e enriquecer processos educacionais não seja uma ideia
nova, a forma como é desenvolvido pode servir para a reprodução ou para a transformação
da sociedade. O teatrólogo Augusto Boal desenvolveu uma metodologia, à qual denominou
de Teatro do Oprimido, para, através da linguagem teatral promover autonomia e capacidade
crítica, tornando o espectador em ator. Na sua última obra, editada em 2009, A Estética do
Oprimido, levanta uma importante questão contemporânea sobre o papel da estética e suas
relações com o poder.
n palavras-chave
Augusto Boal. Teatro. Educação. Transformação Social.
n ABSTRACT
Although the use of theater in order to intermediate and enrich educative processes isn’t a knew
idea, the way it is developed may serve to the reproduction or the transformation of society.
The playwright Augusto Boal, developed a methodology which he called the Theater of the Op-
pressed, in order to, through the language of theater promote autonomy and critical capacity,
making the spectator turn into an actor. In his last work, published in 2009, The Aesthetics of
the Oppressed, he raises an important contemporary issue about the role of aesthetics and it
relations with power.
n KEYWORDS 35
Augusto Boal. Theater. Education. Social Transformation.
Introdução
O presente artigo é fruto de pesquisa realizada para o Mestrado de
Educação Profissional em Saúde, na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio
da Fiocruz, defendida em abril de 2010.
Intitulada “Arte e saúde: o teatro na educação em saúde”, a pesquisa teve como
objetivo principal a construção de uma análise sobre as possibilidades pedagógicas
da utilização do teatro em processos educativos em saúde, no sentido de propiciar
à educação dos trabalhadores, em especial aqueles da saúde, em que me encontro
inserida, uma dimensão mais ampla, na qual a educação é compreendida como um
processo que, transcendendo a transmissão de técnicas, propõe o desenvolvimento
da criatividade, da auto-estima e de uma postura mais crítica.
A linguagem teatral pode ser um importante facilitador nos processos educati-
vos. Estabelece uma comunicação mais completa uma vez que, além da racionalida-
de, se serve de outros elementos do ser como a sensibilidade, a emoção e a intuição.
A utilização do teatro para dar mais efetividade e consistência à educação está
presente na história desde a antiguidade.1
Augusto Boal, no livro Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, já relatava
É encontrada, já, na Ars Poética de Aristóteles, por exemplo. A igreja católica se serviu amplamente do teatro
1
para difundir suas concepções e dogmas, através dos autos, dos mistérios e de outras formas de encenação.
Na colonização quinhentista, os jesuítas – educadores primeiros dos povos nativos da recém-descoberta Amé-
rica – recorreram à linguagem teatral com objetivos de catequese.
ouvirouver Uberlândia v. 7 n. 1 p. 34-45 jan.|jun. 2011
que “os meios artísticos significavam uma concessão que o clero fazia às massas
ignorantes, incapazes de ler e de seguir um raciocínio abstrato, e que podiam ser
atingidas exclusivamente através dos sentidos” (1988: 72). O nome deste grande
homem do teatro se coloca como uma referência fundamental para a reflexão sobre
a função libertadora da arte. Seu pensamento, e o método desenvolvido por ele no
Teatro do Oprimido, ao propor uma reflexão/ação através da participação ativa do
espectador/aluno na encenação, em sua fundamentação teórica se aproxima da pe-
dagogia de Paulo Freire, que parte do conhecimento e da experiência do aluno para
o questionamento e a transformação da realidade.
No livro A Estética do Oprimido, publicado no Brasil em 2009 após a sua morte,
aborda a questão da utilização da estética como instrumento de dominação ou de
libertação, fundamental para a compreensão da produção da arte na contemporanei-
dade. Questão analisada também por pensadores como o filósofo e crítico literário
britânico Terry Eagleton.
O objetivo deste artigo é seguir a trajetória de Augusto Boal, acompanhando
suas proposições e experiências, muitas delas inovadoras e inéditas, como é o caso
do Teatro Legislativo, em que o teatro é utilizado para democratizar e orientar deci-
sões políticas, constituindo-se na própria construção pública da política.
36
Augusto Boal e modalidades do Teatro do Oprimido
No final de 1950 no Brasil, desenvolvia-se acelerado processo de industrializa-
ção, instaurando uma nova fase do capitalismo no país. O parque industrial de São
Paulo florescia, Juscelino construía Brasília e enormes rodovias. Produzia-se de tudo:
automóveis, geladeiras, televisores, eletrodomésticos, criando uma atmosfera de
prosperidade que coexistia, por outro lado, com um agudo quadro de desigualdades
sociais, gerando contradições que estimulavam os movimentos sociais a reivindicar
mudanças, reformas de base. Agitava-se o tecido social.
Num intenso clima de efervescência artístico-cultural, surgem vários movimen-
tos preocupados em desenvolver e valorizar uma cultura própria, que partisse das
nossas próprias raízes, em resposta à inundação de produtos da indústria cultural
externa, principalmente norte-americana, propagando o american way of life como
ideal de sociedade a seguir. Um nacionalismo florescia em todos os campos: nas
artes surgiam a Bossa Nova e o Cinema Novo, entre outros movimentos. Intelectuais,
artistas e estudantes criam os Centros Populares de Cultura, que percorrem o país
realizando apresentações de shows musicais, peças de teatro, comícios a favor de
mudanças e defendendo a construção de uma cultura nacional. Paulo Freire desen-
volvia no Nordeste a sua pedagogia transformadora, alfabetizando e politizando a
população.
O nome de Augusto Boal (1931-2009) começa a despontar no cenário artístico
brasileiro em 1956. Torna-se a principal liderança do Teatro de Arena de São Paulo
trazendo as concepções de Stanislavski ao contexto brasileiro e ao formato do teatro
de arena. Desenvolve-se uma interpretação naturalista voltada para a discussão dos
problemas sociais brasileiros, criando um diferencial em relação ao teatro de moldes
europeus que vinha sendo feito até então, como no Teatro Brasileiro de Comédia, o
TBC.
O espaço cênico que deu o nome ao grupo, a arena, vinha de encontro à ne-
ouvirouver Uberlândia v. 7 n. 1 p. 34-45 jan.|jun. 2011
cessidade de aproximar palco e platéia e dava lugar a uma estética despojada. “A
arena toma consciência de ser forma autônoma e elege o despojamento absoluto –
algumas palhas no chão dão idéia de celeiro, um tijolo é uma parede, e o espetáculo
se concentra na interpretação do ator” (BOAL, 1988, p.190).
A proposta era valorizar a emoção, “torná-la primeira e prioritária, para que ela
pudesse determinar, livremente, a forma final” (BOAL, 2007, p.59). Para chegar a
isso, faziam-se exercícios musculares, sensoriais, de memória, imaginação, e emo-
ção. É preciso desmontar as mecanizações que a rotina imprime em nosso corpo.
O Arena coloca em cena pela primeira vez o drama urbano e proletário com a
peça Eles não usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. O ano 1958 inaugura um
ciclo novo da dramaturgia brasileira, surgem autores como Oduvaldo Vianna Filho,
Benedito Ruy Barbosa, e Boal com Revolução na América do Sul. Arena conta Zumbi,
peça de Boal em parceria com Guarnieri e música de Edu Lobo, foi marco na história
do grupo. Quebra convenções teatrais, como a identificação ator/personagem des-
montada com a adoção do Sistema Coringa, em que os atores representam todos os
personagens: “a distribuição dos papéis é feita a cada cena e sem nenhuma cons-
tância; procura-se mesmo evitar qualquer periodicidade na distribuição dos papéis
aos mesmos atores” (BOAL, 1988 p. 213).
Dois anos depois se destaca organizando os espetáculos do Grupo Opinião:
37
reúne Zé Ketti, João do Vale, Nara Leão, substituída por Maria Bethânia – outro mar-
co, como movimento artístico contestatório da desigualdade social que perpassava
a sociedade brasileira.
Nos anos 1970, inspirado pelo pensamento de Brecht e Paulo Freire, Boal co-
meça a formular a proposta do Teatro do Oprimido. Na primeira forma desenvolvida,
já praticada no Teatro de Arena, o Teatro Jornal retirava os conteúdos da dramaturgia
de notícias de jornal.
Em 1971, exilado pela ditadura, o teatrólogo continuou seu trabalho na Argenti-
na onde desenvolveu o Teatro Invisível, realizado em lugares públicos. Nesta moda-
lidade, “os rituais teatrais são abolidos: existe apenas o teatro, sem as suas formas
velhas e gastas” (BOAL, 1988, p.170). Os atores começam a encenação como se
estivessem vivendo uma situação real e os presentes desconhecendo tratar-se de
teatro participam espontaneamente. Tornam-se protagonistas sem que tenham disso
consciência. Para incentivar a platéia a participar é preciso que o tema apresentado
seja do seu interesse.
Em 1973, Boal aplica as técnicas de seu método num programa de alfabetiza-
ção no Peru e começa a desenvolver o Teatro Fórum. Nele, o participante intervém
na encenação, substitui um dos atores modificando o curso da ação no sentido que
considera o mais correto ou desejável. Esta modalidade denominada por Boal “como
um tipo de luta ou jogo” tem regras descobertas e não inventadas. Elas são neces-
sárias para que se obtenha o efeito desejado: a descoberta dos mecanismos que
produzem e mantém a opressão, e quais táticas e estratégias são possíveis para
desfazê-la. O texto inicial deve apresentar os personagens com clareza, identificando
a sua ideologia, revelada através da expressão corporal dos atores. Estes devem
realizar atividades significativas, com gestos marcados. Cada gesto e movimentação
devem ter sua razão de ser. Isto é importante para que quando o espectador for subs-
tituir o ator, não se limite a discursar, mas atue. O figurino deve conter os elementos
essenciais ao personagem, para que os espect-atores possam também utilizá-los
ouvirouver Uberlândia v. 7 n. 1 p. 34-45 jan.|jun. 2011
quando forem interpretá-lo. As soluções apresentadas pelo protagonista necessitam
conter erros que
devem ser expressos claramente, e cuidadosamente ensaiados, em situações bem
definidas. Isto acontece porque o Teatro-Fórum não é teatro-propaganda, não é o
velho teatro didático; ao contrário, é pedagógico, no sentido de que todos aprende-
mos juntos, atores e platéia (BOAL, 2007, p. 29).
Ao lado da preocupação com a clara exposição e discussão do problema, o
Teatro Fórum continua sendo teatro, e como tal, deve ser fonte de prazer estético.
Tão importante quanto o texto é a organização da cena no espaço. Os participantes
devem ser estimulados a não apenas verbalizarem suas ideias, mas a fazerem isto
teatralmente, com criatividade, utilizando recursos como a música, a dança, as lin-
guagens simbólicas e metafóricas.
Embora a alfabetização, no Peru, devesse ser feita em espanhol, o povo falava
quetchua ou outro dos mais de 45 dialetos indígenas e resistia ao espanhol. O Teatro
Imagem se originou nesse contexto. O espectador, sem usar palavras, intervém na
cena “esculpindo” com o corpo dos atores uma imagem que represente o seu pen-
samento sobre o tema em questão. E de que forma poderia se transitar da situação
38
apresentada inicialmente pelos atores para uma situação ideal? Outros espectadores
podem entrar e modificar o que foi feito pelos anteriores, construindo novas “ima-
gens” que representem o seu ponto de vista.
Em 1978, Boal se estabelece em Paris onde cria o Centre d’étude et de diffusion
dês techniques actives d’expression. Na Europa, de 1976 a 1986, desenvolveu téc-
nicas mais introspectivas incorporando maneiras de teatralizar a subjetividade. Suas
obras foram traduzidas em mais de vinte línguas e o Teatro do Oprimido possui cen-
tros em mais de 70 países que utilizam seu método nas mais diversas áreas: trabalho
social, política, saúde e educação, o que lhe rendeu indicação ao Prêmio Nobel da
Paz, em 1998.
Metodologia do Teatro do Oprimido
Boal inicia O Teatro do Oprimido afirmando que aqueles que defendem a separa-
ção do teatro da política pretendem conduzir-nos ao erro, pois o teatro é uma arma,
e como tal pode ser usado para a liberação. Para isso é necessário criar as formas
teatrais correspondentes, é preciso transformar.
Adepto da dialética materialista de Marx e Engels, Boal opõe-se a Aristóteles
que separa a poesia da política como disciplinas distintas e afirma que ele se con-
tradiz ao construir “o primeiro poderosíssimo sistema poético/político de intimidação
do espectador, de eliminação das ‘más’ tendências ou tendências ‘ilegais’ do público
espectador” (BOAL, 1988, p.18). Sistema que podemos identificar nos dias atuais na
televisão, no cinema e no teatro, como o formato principal que estrutura a indústria
cultural.
Em contraposição, propõe desmontar os elementos que as classes dominantes
instituíram no teatro, quando dele se apropriaram: os muros divisórios entre atores e
espectadores e no palco entre atores, separando os protagonistas dos demais torna-
dos secundários ou figurantes. Mais do que isso propõe que o espectador passe a
ouvirouver Uberlândia v. 7 n. 1 p. 34-45 jan.|jun. 2011
ator, a sujeito transformador da ação dramática.
Bertolt Brecht que também revoluciona a linguagem teatral dando-lhe uma fun-
ção social conscientizadora defendia o teatro com finalidades educativas, questio-
nando a falsa contradição entre entretenimento e instrução colocada pela indústria
cultural em ascensão. O aprendizado, segundo ele, é penoso nas sociedades capi-
talistas pelo fato de o conhecimento ter se tornado mercadoria adquirida pelo seu
valor de troca e não de uso. Neste contexto não é valorizado o prazer que existe na
curiosidade humana para desvendar o mundo, para se relacionar com outros seres
vivos e com a natureza, o prazer de criar compreendendo-se como parte de um todo
transcendente.
Boal, embora divergindo de Brecht em algumas questões, vai buscar nos seus
ensinamentos alguns elementos fundamentais para construir sua tese, principalmen-
te no que se refere ao estímulo para desenvolver no espectador uma postura crítica
face ao que lhe é teatralmente apresentado.
Brecht apresenta o indivíduo como objeto de forças econômicas e sociais onde
o ser social determina o pensamento. Em Galileu Galilei, o homem que é papa con-
corda com as teses de Galileu, mas o Papa exige que ele se retrate sob pena de
enfrentar a Inquisição. As vontades individuais podem intervir, mas não são o fator
determinante da ação dramática fundamental. Boal dá um passo à frente: propõe o
39
indivíduo agora como sujeito, capaz de interferir nas forças sociais que determinam
seu ser social.
Aristóteles propõe uma poética em que os espectadores delegam poderes ao per-
sonagem para que este atue e pense em seu lugar; Brecht propõe uma poética em
que o espectador delega poderes ao personagem para que este atue em seu lu-
gar, mas se reserva o direito de pensar por si mesmo, muitas vezes em oposição ao
personagem...O que a poética do oprimido propõe é a própria ação! (BOAL, 1988, p.138)
Para tornar o espectador um ator, o ponto de partida é fazer com que ele co-
nheça e domine o próprio corpo identificando a alienação muscular imposta pelo
trabalho e pelos papéis sociais que desempenha, que acabam por conferir máscaras
sociais.2 Em seguida busca-se tornar o corpo expressivo, estimulando outras formas
de comunicação que não a palavra. Esta perspectiva parte do princípio que o ser
humano é uma unidade, um todo indivisível: idéias, emoções e sensações estão
indissoluvelmente ligadas. O pensamento se exprime corporalmente, assim, o corpo
pensa. A ideia de comer provoca salivação. A emoção da raiva provoca o endureci-
mento da face.
O ator ao mesmo tempo em que deve se entregar a uma emoção precisa pro-
curar entender o porquê e o significado dela. É tão importante conseguir sentir ver-
dadeiramente uma emoção vivida pelo personagem, quanto controlar esta emoção,
para estar em sintonia com a coerência da cena e com as emoções dos outros ato-
res, criando com eles uma inter-relação. Para conseguir estabelecer o objetivo de
qualquer ator, isto é, uma comunicação verdadeira e profunda com o público, ele
precisa sentir realmente a emoção que diz sentir. A comunicação interpessoal se dá
As máscaras sociais seriam determinadas pelos rituais que desempenhamos. “Pessoas que realizam as mes-
2
mas tarefas assumem a máscara imposta por estas tarefas”. (BOAL, 2007, p. 264).
ouvirouver Uberlândia v. 7 n. 1 p. 34-45 jan.|jun. 2011
em dois níveis: onda (consciente) e sub-onda (inconsciente), pois o ser humano é
capaz de emitir e receber muito mais informação do que percebe conscientemente.
“Antes de pedir aumento de salário, o operário já sabe se o patrão vai concedê-lo ou
não: percebe-o através da sub-onda” (BOAL, 2007, p. 297). Da mesma forma, o ator
se comunica pela onda através das palavras, silêncios, gestos e movimentos, e pela
sub-onda, através dos pensamentos que emite. Se estas duas dimensões divergem,
algo soa falso, e a magia da comunicação com o público se rompe.
A partir de uma proposição básica, o envolvimento do espectador para que ele
entre em cena e atue criticamente diante de uma situação de opressão tentando
desfazê-la, Boal vai desenvolver uma série de formatos, que podem ser infinitamen-
te diversificados dependendo da situação. Além daqueles já citados anteriormente,
como o Teatro Fórum, Invisível, de Imagem, Jornal, destaca-se ainda o Teatro Fotono-
vela, que é montado seguindo o modelo da estrutura dramática das fotonovelas, po-
rém reinterpretadas pelos participantes a partir de sua realidade local. A comparação
entre esta versão e a novela como apresentada na televisão oferece farto material
para discussão. Boal (1996) argumenta que a forma de interpretação usualmente
presente nas novelas poderia ser denominada de “realismo epidérmico”, no qual
os atores procuram imitar de forma estereotipada um linguajar e comportamentos
aos quais não estão familiarizados. Esta forma de linguagem é a primeira referência
40
para os atores comunitários, aquela que eles procuram reproduzir quando instados a
desenvolver alguma representação. “Quando se consegue mostrar-lhes que o teatro
são eles e não as telenovelas, os resultados são sempre esplêndidos” (BOAL, 1996,
p. 94). Quando esse ator para de tentar imitar as posturas dos personagens de no-
vela e começa a mostrar como ele é e como são as pessoas reais que ele conhece,
interpretar fica mais fácil e prazeroso e a cena adquire um interesse todo especial
para aqueles que nela se reconhecem.
Todas estas experiências de teatro popular visam primordialmente a libertação do
espectador de concepções pré-determinadas, assim como desnudar as superestrutu-
ras, os rituais que coisificam as relações humanas e que impõem a cada pessoa pa-
péis e máscaras específicos, inerentes à sua inserção social. Esta concepção se afina
com a perspectiva da educação crítica ao propiciar o domínio de uma nova linguagem,
que por sua vez abre a perspectiva de novas formas de conhecimento da realidade:
Cada linguagem é absolutamente insubstituível. Todas as linguagens se comple-
mentam no mais perfeito e amplo conhecimento do real. Isto é, a realidade é mais
perfeita e amplamente conhecida através da soma de todas linguagens capazes de
expressá-la (BOAL, 1988, p.137, grifos do autor).
Centro do Teatro do Oprimido (CTO) E Política Pública
Em 1986, final da gestão de Leonel Brizola no governo do Rio de Janeiro, seu
vice, Darcy Ribeiro, candidato a governador para o próximo mandato implementava
seu projeto dos Centros Integrados de Educação Popular (CIEPs)3 e convidou Boal
Projeto de criação de uma rede de escolas construídas com baixo custo, com objetivo de escolarizar a longo
3
prazo o maior número possível de crianças, mantendo-as na escola a maior parte do tempo e oferecendo
alimentação, cuidados e várias atividades, inclusive culturais.
ouvirouver Uberlândia v. 7 n. 1 p. 34-45 jan.|jun. 2011
para coordenar a parte cultural. Tem início um trabalho de preparação de animado-
res culturais para desenvolverem com alunos dos CIEPs as técnicas do Teatro do
Oprimido. Foram realizadas apresentações para platéias de até 400 pessoas: alunos,
professores, pais dos alunos, amigos dos professores, serventes, merendeiras e vi-
zinhos da escola.
Darcy Ribeiro perdeu a eleição para Moreira Franco e o projeto não teve conti-
nuidade. Como tudo que se faz deixa algum fruto, em 1989 um pequeno grupo “de
teimosos sobreviventes da experiência dos CIEPS” propôs criar um Centro de Teatro
do Oprimido (CTO), no Rio de Janeiro. Perdido o elo com a Secretaria de Educação
e os CIEPs, o CTO opta por apoiar o Partido dos Trabalhadores (PT) nas eleições
municipais de 1992, que trazia como candidata à prefeitura, Benedita da Silva. “Que-
ríamos participar da campanha nas praças cantando nossas músicas, fazendo Teatro
Fórum sobre os acontecimentos do dia a dia, usando máscaras, estetizando as ruas.
Queríamos teatralizar a campanha” (BOAL,1996, p. 37).
A proposta foi aceita pelo partido com uma ressalva: que algum deles se can-
didatasse a vereador. O grupo propõe o nome de Boal com o objetivo não propria-
mente de elegê-lo e sim “participar das eleições fazendo um enterro festivo do CTO”
(BOAL, 1996, p. 38). Suplantando as expectativas do grupo, a campanha animada
por eventos teatrais cresceu e Boal foi surpreendido pela perspectiva bem concreta
41
de se eleger vereador. Chegou a pensar em desistir, mas avaliando com o grupo,
optou pela ideia de, se eleito, atuarem teatralmente, através da máquina legislativa à
qual teriam acesso. A vitória revitalizou as atividades do CTO, incentivando e orien-
tando a criação de núcleos de Teatro do Oprimido nas comunidades, onde seriam
debatidas artisticamente questões políticas de interesse comum. Estava lançada a
semente do Teatro Legislativo.
A orientação aqui se volta para a criação de uma dramaturgia que procure se
concentrar no cerne das questões em debate, pontuando os problemas que se quer
discutir, sem perder de vista a essência do teatro, como definida por Hegel: o conflito
de vontades livres (apud BOAL, 1996, p. 83). Nessa modalidade de Teatro Fórum a
vontade em conflito deve ser expressão de uma necessidade eticamente justificada
e deve resultar numa pergunta à platéia, da qual se deseja respostas. Como vencer
essa opressão? Por isso, a pergunta deve ser clara. É necessário que o protagonista
(o oprimido que será substituído) encontre um ou mais opressores que se consti-
tuirão em obstáculo para a satisfação das suas necessidades e desejos. A criação
destes opressores pelo grupo deverá obedecer a uma lógica que prevê um conheci-
mento da situação que está sendo abordada, pois a teatralidade não pode sacrificar
a verdade. Os opressores ou antagonistas poderão representar poderes abstratos,
como a Sociedade ou a Repressão, mas estes poderes devem estar personifica-
dos em alguém. Eles devem fazer tudo para dificultar a realização da vontade do
oprimido, para que este perceba a dimensão dos obstáculos que realmente terá de
enfrentar. A platéia deve ser informada pela ação e não pela enunciação do fato. “Os
espectadores não prestarão a menor atenção quando se disser que tal personagem
é assim ou assado, mas verão com interesse tudo aquilo que ele fizer, e que o mostre
como sendo assim ou assado” (BOAL, 1996, p. 93).
Durante o espetáculo a atenção dos espectadores se concentra no espaço onde
ocorre a ação, denominado por Boal de espaço estético. Nos teatros os espaços
tradicionais são delimitados pelo palco, pelas cadeiras, pelas cortinas, mas na rua e
ouvirouver Uberlândia v. 7 n. 1 p. 34-45 jan.|jun. 2011
nas praças é atravessado pelo ruído do trânsito, latidos de cachorros e o “inevitável
bêbado que comemora cada cena ou frase aplaudindo sempre, principalmente fora
de hora” (BOAL, 1996, p.103). É importante demarcar este espaço, caracterizado
como uma área inicialmente interditada ao público, que no processo do Teatro do
Oprimido será transgredida. Essa simbologia é importante para o espectador que vai
participar e para o restante do público, pois a transgressão é necessária para acabar
com a opressão – presente no próprio estado e em sua máquina burocrática.
Os objetos de cena contidos neste espaço devem ser objetos comuns, facilmen-
te encontrados na própria comunidade, mas que, recebendo um tratamento espe-
cial, estetizante, adquirem uma aura que os diferencia dos demais.
O som e a voz devem romper com os ritmos da rua, de fora, impondo-se, crian-
do na cena um ritmo próprio, compreendendo como ritmo a organização do som e
do movimento no tempo.
Uma importante proposição do Teatro Legislativo é que haja um intercâmbio
entre comunidades diferentes com troca de apresentações, encontros, festivais, for-
mando uma rede de solidariedade.
Câmara na Praça
42
A atividade realizada pelo CTO que podia acontecer a qualquer hora e em qual-
quer lugar era chamada por Boal de Câmara na Praça. Trata-se de um tipo de Teatro
Fórum aplicado em consultas públicas, onde se avisa à população com antecedência
sobre a data, local do evento e qual tema será debatido, no sentido de democratizar
e orientar as decisões políticas do vereador. É a própria construção pública da polí-
tica, pois além de parte da máquina pública (do Gabinete, da Câmara Municipal) a
condição mais importante para a sua realização é a reunião das muitas pessoas inte-
ressadas no tema determinado. A sessão se desenrolava em moldes assemelhados
a uma sessão da Câmara com tempo cronometrado, ordem do dia, encaminhamen-
tos, etc. Eram condições importantes para o processo:
1. Que a pergunta feita à população fosse clara, para que as respostas obtidas
também fossem claras e precisas. Por este motivo sempre havia uma discussão
preliminar sobre o tema no gabinete do vereador com o grupo do CTO;
2. Indispensável a presença de um assessor legislativo que dominasse a matéria
debatida, no sentido de esclarecer aspectos e questões legais;
3. Distribuição ao público de esclarecimentos escritos sobre a lei que estivesse
sendo debatida com “logotipo” de identificação e os seguintes dizeres: Câmara
da Praça – Mandato Político do Vereador Augusto Boal – PT (Partido dos Traba-
lhadores) /RJ. Identificar o material distribuído dava transparência, percepção a
seu trabalho “como parte de uma estrutura conseqüente e não como ato isola-
do” (BOAL, 1996, p.121);
4. Imprescindível o retorno ao local algum tempo depois, para dar o retorno das
providências tomadas relativas às sugestões recebidas;
ouvirouver Uberlândia v. 7 n. 1 p. 34-45 jan.|jun. 2011
5. A documentação de todo o trabalho na forma de Súmulas, em que eram trans-
critas as argumentações e posições dos espectadores. Importantes elementos
para a reflexão e teorização do processo, assim como propiciavam a criação de
novas improvisações.
Um projeto de lei do prefeito César Maia, que queria armar a guarda munici-
pal, foi discutido teatralmente na escola Levy Neves por alunos, pais, professores e
alguns guardas municipais. A maioria se manifestou contra o projeto, incluindo os
guardas, que temiam que as armas os tornassem alvo da violência. Este foi o voto
de Boal na Câmara.
O Teatro Legislativo originou emendas de lei e até leis, como a de número
1023/95, que obriga hospitais municipais a oferecerem atendimento geriátrico: médi-
cos especialistas e leitos. A proposta da lei partiu do espetáculo do grupo da “Tercei-
ra Idade” que representou um fato acontecido, no qual um idoso era atendido por um
dermatologista inexperiente, que não sabendo o que fazer com o paciente receitava
qualquer coisa.
Por sua ação transformadora na Câmara de Vereadores, ambiente que ele pró-
prio qualificou com uma “camisa de força”, onde poder e corrupção caminham de
mãos dadas, Boal foi alvo de várias violências. Campanhas difamatórias pela impren-
43
sa e ações populares como a impetrada pelo advogado de um partido rival intiman-
do-o a desocupar uma casa onde jamais pusera os pés. Referia-se a um dos casa-
rões da Lapa que o governo do estado destinara a companhias de teatro popular,
como o Tá na Rua, de Amir Haddad, ou o Hombu, e também o CTO. A destinação do
imóvel ocorreu antes da posse de Boal na Câmara, e até o momento da ação popular
o casarão, ocupado, ainda não havia sido liberado para o grupo.
Apesar de todas as dificuldades, Boal considerou que ainda assim valeu a pena,
pois viu frutificar seu trabalho: ao final do terceiro ano do mandato, quando edita o
livro Teatro Legislativo, já haviam sido criados pelo CTO, 19 grupos de teatro popular,
atuantes em suas comunidades.
Esta era a forma de teatro considerada por Boal a modalidade mais completa de
Teatro Fórum, pelo fato de não só compreender a lei que está por trás do fenômeno,
mas promulgá-la na Câmara.
A Estética do Oprimido
A percepção estética, que caracteriza a relação humana com a arte e com a
vida, diz mais respeito ao corpo, despertando sensações, emoções e sentimentos,
do que à mente, que só num segundo momento coordena e elabora estas percep-
ções. Em palestra realizada na Escola de Teatro da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UNIRIO) em dezembro de 2008, Boal retoma Baumgarten que já no século
XVIII defendia a existência de um conhecimento que vem através dos sentidos.
No seu último livro, A Estética do Oprimido, editado postumamente no Brasil em
2009, Boal destaca como tese principal a existência de duas formas de pensamento:
o simbólico, que se dá através das palavras, e o sensível, forma de pensar não verbal,
através de sons e imagens. Considera que pior que o analfabetismo das letras é o
das imagens e sons, que aliena o indivíduo da produção da sua arte e da sua cultura.
O pensamento sensível, segundo o autor, representa a libertação dos oprimidos das
ouvirouver Uberlândia v. 7 n. 1 p. 34-45 jan.|jun. 2011
ideias dominantes de uma sociedade, pois só seu desenvolvimento gera criação de
cultura, ao invés do seu passivo consumo.
A estética do oprimido, ao propor uma nova forma de se fazer e de se entender a
Arte, não pretende anular as anteriores que ainda possam ter valor; não pretende a
Multiplicação de Cópias nem a Reprodução da Obra, e muito menos a vulgarização
do produto artístico. Não queremos oferecer ao povo o acesso à Cultura – como se
costuma dizer, como se o povo não tivesse sua própria cultura ou não fosse capaz
de construí-la. (BOAL, apud DUARTE, 2009, p. 6).
Segundo Eagleton, com a dissolução do estado absolutista e a construção do
estado burguês houve a necessidade de substituir as instituições que organizavam
a vida social. Deveriam agora estar mais apoiadas no consenso do que na coação,
uma vez que a atividade econômica no capitalismo requer um certo grau de autono-
mia. A construção de formas ideologicamente dominantes da sociedade de classes
moderna vai buscar este consenso através da estética e da apropriação dos modos
e maneiras da subjetividade para uma nova ordem social, infiltrando-os no senso
comum.
44
Se o poder precisa ser naturalizado com eficiência, o melhor caminho é enraizá-lo
na imediatez sensorial da vida empírica, começando pelo indivíduo da sociedade
civil, com seus afetos e apetites, e puxando daí afiliações que o ligarão ao todo
maior (EAGLETON,1993, p. 30).
A necessidade do poder de regular o mundo dos sentidos, não obstante, traz
contradições: “A razão deve encontrar um caminho para penetrar o mundo da per-
cepção, mas, ao fazê-lo, não pode colocar em risco o seu poder absoluto” (EAGLE-
TON, 1993, p.18). Assim, a ordem social burguesa tem sua coesão interna garantida
pelos “hábitos, as devoções, os sentimentos e os afetos” (1993, p.22), e suas leis
legitimadas por sua introjeção nas subjetividades, naturalizando-se.
A dissimulação dos interesses dominantes sob a capa do costume, da tradição
e das conveniências leva os sujeitos a cederem perante estas imposições sem per-
ceber quais reais interesses elas ocultam.
Assim a estética torna-se um elemento contraditório, pois, por um lado, conso-
lida a hegemonia burguesa pela introjeção dos valores e normas desta ordem no
mais íntimo dos indivíduos nas profundezas dos seus corpos, mas, por outro lado
pode deflagrar um processo de emancipação “em que a liberdade e a compaixão, a
imaginação e as afecções do corpo, buscam ser ouvidas no interior do discurso de
um racionalismo repressivo” (EAGLETON, 1993, p.27).
Para um teatro que se propõe transformador, como pensado por Boal, faz-se
necessário a desnaturalização das formas e maneiras de ser cristalizadas pelas for-
ças do conservadorismo, mostrando que como são produzidas por homens podem
também por estes ser transformadas, devolvendo à dimensão da estética sua face
libertadora.
Augusto Boal, que neste ano de 2009 infelizmente se foi, legou-nos um conjunto
de reflexões metodológicas de uma riqueza inestimável para aqueles que desejarem
seguir por esta trilha. No entanto, trabalhar com as suas concepções significa em
ouvirouver Uberlândia v. 7 n. 1 p. 34-45 jan.|jun. 2011
primeiro lugar buscar sempre formas novas, apropriadas a uma realidade em eterno
movimento, pois em todo seu discurso está implícito o estímulo para o livre pensar,
para o livre exercício de reconstruir esta realidade quantas vezes necessário for.
Referências
Augusto Boal, Criador do Teatro do Oprimido, 78. Jornal O Globo, 3 maio 2009, p. 31. (Seção Obituário)
Augusto Boal. O teatro a serviço dos oprimidos. A teatralidade como instrumento da paz. (Entrevista) Jor-
nal Capital Cultural, dez. 2007, n. 93, p. 3.
BARCELOS, Jalusa. CPC da UNE: uma história de paixão e consciência. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1994.
BOAL, Augusto. Jogos para atores e não atores. 10. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.
___. Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas. 5. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1988.
___. Teatro Legislativo: versão beta. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996.
45
BRECHT, Bertolt. Teatro Dialético. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.
DUARTE, Alessandra. Legado artístico de Augusto Boal. Jornal O Globo. Caderno Prosa e Verso, 9 maio
2009, p. 6.
EAGLETON, Terry. A ideologia da estética. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.
RIDENTI, Marcelo. Em busca do povo brasileiro. Rio de Janeiro: Record, 2000.
ouvirouver Uberlândia v. 7 n. 1 p. 34-45 jan.|jun. 2011
Você também pode gostar
- Teatro Do Oprimido e Outras Poc3a9ticas Polc3adticas 1 PDFDocumento223 páginasTeatro Do Oprimido e Outras Poc3a9ticas Polc3adticas 1 PDFHJUSTO75% (4)
- Lei 1.171 - EsquematizadoDocumento8 páginasLei 1.171 - Esquematizadocarlosamf336092% (61)
- O Uso dos jogos teatrais na educação: Possibilidades diante do fracasso escolarNo EverandO Uso dos jogos teatrais na educação: Possibilidades diante do fracasso escolarNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Augusto Boal - Atos de Um PercursoDocumento167 páginasAugusto Boal - Atos de Um PercursoAdemir de Almeida100% (1)
- A Estética Do Oprimido - Augusto Boal - 2009Documento256 páginasA Estética Do Oprimido - Augusto Boal - 2009stellaamiranda86% (7)
- Teatro e os povos indígenas: Janelas abertas para a possibilidadeNo EverandTeatro e os povos indígenas: Janelas abertas para a possibilidadeAinda não há avaliações
- Caracteristicas Do Teatro Do OprimidoDocumento4 páginasCaracteristicas Do Teatro Do OprimidoDeise F. SantosAinda não há avaliações
- Introdução Ao Teatro Do OprimidoDocumento2 páginasIntrodução Ao Teatro Do OprimidotupatupaoAinda não há avaliações
- Amor Nos Tempos Do Cólera - RESENHADocumento4 páginasAmor Nos Tempos Do Cólera - RESENHAPedro Altenfelder100% (1)
- Interpretação Esotérica Do Evangelho de Mateus Cap 10Documento8 páginasInterpretação Esotérica Do Evangelho de Mateus Cap 10LENA Fernandes100% (1)
- Thomas Hobbes - ResumoDocumento3 páginasThomas Hobbes - ResumoleticiatstAinda não há avaliações
- Escola e CurrículoDocumento37 páginasEscola e CurrículoMarcio CastroAinda não há avaliações
- Análise Bioética do Ensino de Música no Brasil e seu Impacto na SociedadeNo EverandAnálise Bioética do Ensino de Música no Brasil e seu Impacto na SociedadeAinda não há avaliações
- Árvore Do Teatro Do OprimidoDocumento4 páginasÁrvore Do Teatro Do OprimidoDeise F. SantosAinda não há avaliações
- Boal A. - A Estética Do OprimidoDocumento54 páginasBoal A. - A Estética Do OprimidoMurilo FrancoAinda não há avaliações
- Boal: Embaixador Do Teatro BrasileiroDocumento69 páginasBoal: Embaixador Do Teatro BrasileirocarneiroleonelAinda não há avaliações
- Síntese e Comparação Entre Descartes e HumeDocumento4 páginasSíntese e Comparação Entre Descartes e HumeBruna Silva0% (1)
- Gestão Da Conservação-Restauração Do Patrimônio Cultural Algumas Reflexões Sobre Teoria e PráticaDocumento10 páginasGestão Da Conservação-Restauração Do Patrimônio Cultural Algumas Reflexões Sobre Teoria e PráticaDébora LimaAinda não há avaliações
- A Agua - EspiritismoDocumento89 páginasA Agua - EspiritismoRobert PeresAinda não há avaliações
- As Categorias Do Teatro Popular em BoalDocumento6 páginasAs Categorias Do Teatro Popular em BoalAnace FilhaAinda não há avaliações
- Trabalho BoalDocumento8 páginasTrabalho BoalGiulia Del BelAinda não há avaliações
- Teatro Do OprimidoDocumento3 páginasTeatro Do OprimidoMeesterTavaresAinda não há avaliações
- "Teatro Jornal" de Augusto Boal e A Descoberta Do Teatro Do OprimidoDocumento14 páginas"Teatro Jornal" de Augusto Boal e A Descoberta Do Teatro Do OprimidoAna BaiãoAinda não há avaliações
- Exercício Teatro Do Oprimido - Augusto BoalDocumento1 páginaExercício Teatro Do Oprimido - Augusto BoalAquillis Skupien Monteiro100% (2)
- Projeto Teatro Do Oprimido - Jitaúna CorrigidoDocumento10 páginasProjeto Teatro Do Oprimido - Jitaúna CorrigidoErica RodriguesAinda não há avaliações
- Augusto Boal - ELETIVAADocumento2 páginasAugusto Boal - ELETIVAAEstephanny JjAinda não há avaliações
- Atividade 1 Teatro AugustoDocumento1 páginaAtividade 1 Teatro AugustoAmanda MirandaAinda não há avaliações
- Resenha Textos Armindo BiãoDocumento4 páginasResenha Textos Armindo BiãoJuliana AraujoAinda não há avaliações
- Teatro Do Oprido - HeráclitoDocumento32 páginasTeatro Do Oprido - HeráclitoheraclitocardosoAinda não há avaliações
- Teatro Do Oprimido - Um Teatro Das Emergências Sociais PDFDocumento10 páginasTeatro Do Oprimido - Um Teatro Das Emergências Sociais PDFMira BenvenutoAinda não há avaliações
- 18 Ucv 14 02 31 A Boal Revisitado Ver 2 FayDocumento371 páginas18 Ucv 14 02 31 A Boal Revisitado Ver 2 FayMariela RiganoAinda não há avaliações
- Projeto TeatroDocumento2 páginasProjeto TeatroEduardo KimuraAinda não há avaliações
- Biografia Augusto Pinto BoalDocumento2 páginasBiografia Augusto Pinto Boalguitarr4urAinda não há avaliações
- Artigo - Daniel e Adilma - Vii Semana de PedagogiaDocumento17 páginasArtigo - Daniel e Adilma - Vii Semana de PedagogiaDaniel SiqueiraAinda não há avaliações
- Anudezemcena PDFDocumento17 páginasAnudezemcena PDFDaniel AssisAinda não há avaliações
- O Teatro Do OprimidoDocumento6 páginasO Teatro Do OprimidoSusan LopesAinda não há avaliações
- Olho Vivo Anos 70Documento15 páginasOlho Vivo Anos 70Coletivo cigarraiadaAinda não há avaliações
- SANT ANNA - Catarina - Poder e Cultura - As Lutas de Resistencia Crítica Através de Duas Experiências TeatraisDocumento12 páginasSANT ANNA - Catarina - Poder e Cultura - As Lutas de Resistencia Crítica Através de Duas Experiências TeatraisAnderson Do RosárioAinda não há avaliações
- O Teatro Brasileiro Na Década de 1970 Apropriações Históricas e Interpretações HistoriográficasDocumento6 páginasO Teatro Brasileiro Na Década de 1970 Apropriações Históricas e Interpretações HistoriográficasLeonardo EngelAinda não há avaliações
- Teatro Jornal de Augusto Boal e A Descoberta Do Teatro Do OprimidoDocumento14 páginasTeatro Jornal de Augusto Boal e A Descoberta Do Teatro Do OprimidoJuciara NascimentoAinda não há avaliações
- Tribuna EfeemeDocumento254 páginasTribuna EfeemeMatheus BarretoAinda não há avaliações
- Eletiva Iniciacao Teatroal Textoestudo 4bimestreDocumento6 páginasEletiva Iniciacao Teatroal Textoestudo 4bimestrekfnhgxgvb8Ainda não há avaliações
- Atividade N°5 RotasDocumento6 páginasAtividade N°5 Rotassantofedro285Ainda não há avaliações
- Ab - Segundo Ano (Arte) - Terceiro Bimestre - 2022Documento2 páginasAb - Segundo Ano (Arte) - Terceiro Bimestre - 2022João Henrique Magalhães da SilvaAinda não há avaliações
- Teatro CPC PDFDocumento3 páginasTeatro CPC PDFKleybson FerreiraAinda não há avaliações
- ARTIGO 3 46 A 58Documento15 páginasARTIGO 3 46 A 58luca.myskAinda não há avaliações
- O TEATRO DO OPRIMIDO NO ESPACO ESCOLAR - Um Despertar Critico e CriativoDocumento17 páginasO TEATRO DO OPRIMIDO NO ESPACO ESCOLAR - Um Despertar Critico e CriativoTeatro do IrruptoAinda não há avaliações
- Teatro e EduaaçaDocumento20 páginasTeatro e EduaaçaNicoAinda não há avaliações
- Eae 9643Documento31 páginasEae 9643anaAinda não há avaliações
- O Teatro Sem Fronteiras de Augusto Boal - Clara de AndradeDocumento9 páginasO Teatro Sem Fronteiras de Augusto Boal - Clara de AndradeFábio Rocha PinaAinda não há avaliações
- Opiniao 50 Years AfterDocumento15 páginasOpiniao 50 Years Aftermarcelo mariAinda não há avaliações
- Teatro Do OprimidoDocumento3 páginasTeatro Do OprimidoPriscila SilvestreAinda não há avaliações
- Teatro Do Oprimido de Augusto BoalDocumento3 páginasTeatro Do Oprimido de Augusto BoalGiselma AlvesAinda não há avaliações
- Pedagogia Do TeatroDocumento9 páginasPedagogia Do TeatroRenata WeberAinda não há avaliações
- Almada Monografia BoalDocumento69 páginasAlmada Monografia BoalMariana De-Lazzari GomesAinda não há avaliações
- Grupos Teatrais No BrasilDocumento14 páginasGrupos Teatrais No BrasilMagno BragaAinda não há avaliações
- 1 - Autismo e TeatroDocumento12 páginas1 - Autismo e TeatroMarcos RodriguesAinda não há avaliações
- Teatro e SociologiaDocumento1 páginaTeatro e SociologiaKauan Cavalcante MoraesAinda não há avaliações
- Uma Experiência de Teatro Popular No PeruDocumento2 páginasUma Experiência de Teatro Popular No PeruclownmunidadeAinda não há avaliações
- Apostila 1 - Aprendizagem e EducaçãoDocumento28 páginasApostila 1 - Aprendizagem e EducaçãomariannatdAinda não há avaliações
- BoalDocumento3 páginasBoalCaroline Cieplinski PassosAinda não há avaliações
- Revista Continente Multicultural #265: Vogue | A cultura ballroom em PernambucoNo EverandRevista Continente Multicultural #265: Vogue | A cultura ballroom em PernambucoAinda não há avaliações
- Estudos de Cinema: visualizando as diferenças: vol IINo EverandEstudos de Cinema: visualizando as diferenças: vol IIAinda não há avaliações
- BARROS, José D'Assunà à O. Os ConceitosDocumento204 páginasBARROS, José D'Assunà à O. Os ConceitosChristopherAlvesGuimarãesAinda não há avaliações
- A Engenharia Do TextoDocumento214 páginasA Engenharia Do TextoChristopherAlvesGuimarãesAinda não há avaliações
- Metodo Comparativo PDFDocumento21 páginasMetodo Comparativo PDFChristopherAlvesGuimarãesAinda não há avaliações
- Dejesus PDFDocumento11 páginasDejesus PDFChristopherAlvesGuimarãesAinda não há avaliações
- Sexualidade e Poder TextoDocumento2 páginasSexualidade e Poder TextoTatiane da SilvaAinda não há avaliações
- Prova de Filosofia - 2 AnoDocumento4 páginasProva de Filosofia - 2 AnoAnonymous QvKB8pAinda não há avaliações
- 00 - Programação Lógica e Crítica Da Investigação Cientifica (2018.1)Documento5 páginas00 - Programação Lógica e Crítica Da Investigação Cientifica (2018.1)Tatiana CaladoAinda não há avaliações
- Ebook Significado Do Seu Dia NatalicioDocumento37 páginasEbook Significado Do Seu Dia NatalicioMaxmílian Costa100% (1)
- O Mundo Como Fantasma e Matriz Consideracoes Filosoficas Sobre o Radio e A Televisao Uma Traducao Critica de O Antiquismo Do Homem de Gunther An PDFDocumento83 páginasO Mundo Como Fantasma e Matriz Consideracoes Filosoficas Sobre o Radio e A Televisao Uma Traducao Critica de O Antiquismo Do Homem de Gunther An PDFCadu OrtolanAinda não há avaliações
- Documento (2) (1) TCC Fil e SocDocumento12 páginasDocumento (2) (1) TCC Fil e Socfernandanerisrcc12345Ainda não há avaliações
- 10 Problemas Livro AtosDocumento39 páginas10 Problemas Livro AtosValmir Freitas de Lima ValmirAinda não há avaliações
- COLLOR, Lindolfo - Discursos e ManifestosDocumento132 páginasCOLLOR, Lindolfo - Discursos e ManifestosFernando Antonio UchoaAinda não há avaliações
- Romantismo Alemão, Funcionalismo e Intuicionismo de BergsonDocumento2 páginasRomantismo Alemão, Funcionalismo e Intuicionismo de BergsonThaysa VidigalAinda não há avaliações
- Artigo 2 Parentesco Corporal e EspiritualDocumento2 páginasArtigo 2 Parentesco Corporal e EspiritualPatricia LinsAinda não há avaliações
- (Transcrição) Aula 83 (Completa)Documento31 páginas(Transcrição) Aula 83 (Completa)Marcio QueirozAinda não há avaliações
- A Vida Examinada de SócratesDocumento2 páginasA Vida Examinada de SócratesLaissa Muniz56% (9)
- Aula de Introdução À Antropologia 2019.1Documento79 páginasAula de Introdução À Antropologia 2019.1Augusto CésarAinda não há avaliações
- Resenha Do Livro Racismo e Anti-Racimo No Brasil, de Antônio Sérgio Alfredo GuimarãesDocumento2 páginasResenha Do Livro Racismo e Anti-Racimo No Brasil, de Antônio Sérgio Alfredo Guimarãesedisonrjr100% (2)
- Ap Dias 13 e 14Documento19 páginasAp Dias 13 e 14constancavieiraaaAinda não há avaliações
- O DESAFIO DA PESQUISA SOCIAL LivroDocumento10 páginasO DESAFIO DA PESQUISA SOCIAL LivroAline Ferreira LopesAinda não há avaliações
- A Etnografia Como Paradigma de Construção Do Processo de Conhecimento em EducaçãoDocumento2 páginasA Etnografia Como Paradigma de Construção Do Processo de Conhecimento em EducaçãoCamila SilvaAinda não há avaliações
- A Oração Como Experiência MísticaDocumento9 páginasA Oração Como Experiência MísticaAlexandre GonçalvesAinda não há avaliações
- BREDEKAMP. TAI Polêmicas e DefiniçãoDocumento20 páginasBREDEKAMP. TAI Polêmicas e DefiniçãoLuciana GrizotiAinda não há avaliações
- CartesiusDocumento3 páginasCartesiusSarah SouzaAinda não há avaliações
- PR 1985 00Documento94 páginasPR 1985 00Wesley LeiteAinda não há avaliações
- NATALIE Zemon Davis e RANDOLPH STARN PDFDocumento11 páginasNATALIE Zemon Davis e RANDOLPH STARN PDFOcerlan SantosAinda não há avaliações