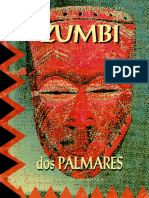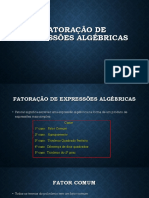Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
10 VELOSO, Mariza. O Fetiche Do Patrimônio
10 VELOSO, Mariza. O Fetiche Do Patrimônio
Enviado por
kenpinheiroTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
10 VELOSO, Mariza. O Fetiche Do Patrimônio
10 VELOSO, Mariza. O Fetiche Do Patrimônio
Enviado por
kenpinheiroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O FETICHE
DO PATRIMÔNIO
MARIZA VELOSO*
Resumo: o artigo trata da profunda mercantilização da cultura reinante
na sociedade contemporânea, o que pode influenciar a dinâmica da produção
e reprodução das manifestações que integram o universo patrimonial.Discute,
ainda, o risco da fetichização das manifestações culturais, argumentando
que a ênfase relativa ao patrimônio imaterial deve incidir na produção e
reprodução do grupo social e nas formas de transmissão de tal patrimônio.
Argumenta, igualmente, que os bens patrimoniais são diferenciados diante
de outras mercadorias, na medida em que possuem uma densidade simbólica
específica, resultado de sua produção eminentemente coletiva.
, Goiânia, v. 4, n.1, p. 437-454, jan./jun. 2006.
Palavras-chave: patrimônio, fetiche, consumo, mercadoria
E ste artigo trata do risco de se transformar o patrimônio cultu-
ral ou bem patrimonial em uma mercadoria como outra qual-
quer, ou, simplesmente, em puro fetiche, quando o patrimônio
cultural, com suas complexas redes de práticas e significados,
se transforma em mero produto, ou objeto “coisificado”, ou
fetichizado.
A motivação para tal reflexão deve-se à necessidade
de suscitar novos debates e construir permanente indagação
sobre questões e temáticas relativas ao patrimônio cultural,
diante das engrenagens da sociedade contemporânea.
O chamado capitalismo tardio, marcado pela
437 internacionalização do capital e flexibilidade do trabalho, entre
outras conseqüências, provocou uma profunda mercantilização
da cultura, introduzindo a noção de que o consumo cultural
promove distinção social.
O patrimônio cultural, tanto o material quanto o
imaterial, extrai sua singularidade por expressar “marcas de dis-
tinção” que, por sua vez, remetem a situações específicas vividas
por uma determinada comunidade, como, por exemplo, os
brincantes de um determinado Bumba-Meu-Boi, os participantes
de um grupo de roda-de-samba no Recôncavo Baiano, ou ou-
tras manifestações populares da cultura brasileira.
O patrimônio cultural deve ser entendido como um
campo de lutas a que diversos atores comparecem construindo
um discurso que seleciona, se apropria de práticas e objetos e
as expropria.
É preciso notar, desde logo, que não se advoga aqui
a tese de que os valores estéticos, históricos ou outros, pre-
sentes nas manifestações patrimoniais, sejam compartilha-
dos de modo homogêneo por uma determinada coletividade.
De modo geral, são muitos os atores presentes neste
campo de luta, como o próprio IPHAN, ONG’s cultu-
rais, o poder político local, as associações comunitárias
, Goiânia, v. 4, n.1, p. 437-454, jan./jun. 2006.
etc. No âmbito desta reflexão, é preciso enfatizar dois re-
gistros teórico-empíricos. O primeiro refere-se ao fato de
que o patrimônio cultural, a par de sua existência real,
constitui uma formação discursiva (FOUCAULT, 1972)
que adquiriu solidez ao longo da modernidade ocidental.
O segundo consiste em enfatizar a importância definitiva
da ampliação da idéia de patrimônio cultural, que deixou
de incorporar só os bens materiais, especialmente os cha-
mados de “pedra e cal,” mas também assimilou práticas
culturais expressivas da diversidade cultural brasileira –
constituídas por manifestações históricas e estéticas genu-
ínas, vivas, concretas e provindas dos diferentes grupos
que compõem a sociedade brasileira.
Um dos eixos da argumentação deste artigo aponta
para a singularidade do bem patrimonial que possui uma
densidade histórica específica. 438
Entretanto é inegável que o patrimônio cultural, em
qualquer de suas variantes – material, imaterial, histórico
artístico, natural, arquitetônico etc. –, sempre expressa valo-
res coletivos corporificados em manifestações concretas.
Assim, falar de patrimônio cultural é mais comple-
xo do que pode parecer à primeira vista, precisamente por-
que o patrimônio cultural é fruto de relações sociais definidas,
historicamente situadas e, ao mesmo tempo, é corporificado
em alguma manifestação concreta, seja conceitualmente de-
finida como material ou imaterial. Contudo, o patrimônio
cultural corre o risco de ser retificado, corre o risco de tor-
nar-se um fetiche.
Portanto, tornar o patrimônio um fetiche, conside-
rar apenas o seu produto objetivado é um risco palpável di-
ante da sociedade de consumo e da “modernidade líquida”
(BAUMAN, 2001). Nela o fragmento, a aparência e o indi-
vidualismo imperam.
Já se disse muitas vezes que a sociedade atual é a
associação entre individualismo e mercado, além da predo-
minância da prática do consumo, da privatização da vida pública
e da reificação das relações sociais transformadas em relações
, Goiânia, v. 4, n.1, p. 437-454, jan./jun. 2006.
entre coisas.
Diante desse quadro, podemos perguntar-nos: como
fica estabelecido o lugar do patrimônio no mercado de bens
simbólicos que existe na sociedade contemporânea brasileira?
Este breve artigo trata da ameaça de transformar o
patrimônio em fetiche. O perigo que se corre é o de trans-
formar os bens culturais em meros objetos de consumo, em
transformar o patrimônio material em expressão de uma his-
tória rasa; ou, ainda, transformar as manifestações culturais
do patrimônio imaterial em fetiche, ou seja, privilegiar o
produto transformado em objeto de consumo como qual-
quer outra mercadoria que circula na sociedade atual.
Enfatiza-se que as manifestações patrimoniais não
podem transformar-se em mero objeto de consumo, muito
embora, como qualquer outro produto, também percorram
439 a trilha de sua própria alienação. Ocorre que o processo de
“coisificação” ou “objetificação” que envolve os bens
patrimoniais passa, necessariamente, por duas dimensões
inexoráveis e que lhes conferem uma aura singular – a di-
mensão coletiva e a dimensão da história ou da memória.
Por outro lado, pode-se correr um outro risco, o de
tratar o patrimônio como se fosse uma idéia abstrata a pairar
sobre as consciências individuais, o que resultaria numa per-
cepção atomizada e estática dos indivíduos – seres apartados
de sua consciência coletiva.
É preciso, ainda, não perder de vista que o patrimônio
cultural coloca em circulação bens culturais de extrema valia
no mercado de bens simbólicos. Portanto, a produção, a va-
lorização e a apropriação de tais bens remetem sempre ao
campo das lutas simbólicas que ocorrem no interior de toda
sociedade ou mesmo de um grupo social.
O patrimônio cultural, quando bem compreendi-
do, expressa diferentes representações coletivas que estabele-
cem múltiplas conexões entre si. Em situações de pesquisa, o
que sobressai é a transformação do informante em intérprete
de seu próprio patrimônio.
O que importa destacar é que, quando se trata de
, Goiânia, v. 4, n.1, p. 437-454, jan./jun. 2006.
patrimônio cultural, seja material ou imaterial, fala-se tam-
bém de valores e de interesses coletivos que, por sua própria
especificidade, não são fixos nem imutáveis.
Valores e interesses não existem a esmo nem consti-
tuem vagas abstrações, mas estão associados a práticas sociais
concretas e são construídos e vividos no interior da vida social,
com seus conflitos, contradições, consensos e hierarquias.
O importante a destacar é a intrínseca relação exis-
tente entre patrimônio cultural e experiência coletiva, ou seja,
os saberes e fazeres tradicionais e genuínos são conhecimen-
tos compartilhados que fazem parte do repertório cultural
comum de um determinado grupo. Em outras palavras, é
fundamental que se vincule, sempre, a pulsação do patrimônio
cultural à dinâmica da experiência coletiva.
Vale dizer que o conceito de experiência coletiva foi
primeiramente utilizado por Walter Benjamin num artigo 440
intitulado Experiência e Pobreza. Nele o autor discute a rela-
ção entre experiência coletiva significativa – no sentido de
uma vivência – e a capacidade narrativa.
Nesse sentido, o que se espera é que os próprios
produtores culturais, ou os nativos de cidades históricas se-
jam capazes de construir suas próprias narrativas a respeito
dos bens patrimoniais, como as casas, praças, palácios, igre-
jas etc., como também sobre as manifestações culturais sin-
gulares a exemplo do artesanato, das danças dramáticas, ou
das comidas típicas.
O CONCEITO DE FETICHE
A idéia de fetiche ou feitiço é antiga e aparece em
diversos campos disciplinares. Uma “teoria do fetichismo”
foi elaborada por diversos autores. Entre outros, destacam-se
Karl Marx (1818-1883) com o fetichismo da mercadoria;
Sigmund Freud (1856-1939) com o fetichismo sexual; e, ainda,
muitos antropólogos que estudaram o fetichismo na magia e
na religião. Os mais clássicos, são James G. Frazer (1954-
1941) e Edward Tylor (1832-1917).
, Goiânia, v. 4, n.1, p. 437-454, jan./jun. 2006.
Apesar da abordagem multidisciplinar, (sem
aprofundamento na temática), parece haver uma idéia co-
mum entre os autores citados: a da suposição de um “deslo-
camento simbólico” (de um ser para o outro, de uma coisa
para a outra, ou, ainda, um deslocamento de um fato para o
outro, dos produtores para o produto, ou alguma manifesta-
ção de um passado significativo para um presentismo vazio).
Pensar sobre o fetiche, em quaisquer de suas aborda-
gens – da mercadoria, da sexualidade, da religião, da moda, ou
mesmo do poder, numa sociedade de consumo como a atual,
requer atenção redobrada, pois, para além do império do con-
sumo, movimentamo-nos em cenários de muitos simulacros
da sociedade moderna, como os cenários e espetáculos produ-
zidos pela atividade turística, os parques temáticos etc.
A teoria Marxista do fetichismo, segundo Rubin
441 (1987, p. 22),
consiste em Marx ter visto entre as coisas relevantes a ilusão da
consciência humana, que se origina da economia mercantil e
atribui às coisas características que têm sua origem nas relações
entre as pessoas no processo de produção.
Ainda segundo Rubin (1987, p. 23), “o que na rea-
lidade é uma relação entre pessoas aparece como uma relação
entre coisas, no contexto do fetichismo da mercadoria”.
Um ponto essencial na teoria fetichista, da perspec-
tiva da economia política marxista, é o de Marx não ter mos-
trado apenas que as relações humanas eram encobertas por
relações entre coisas, mas, também, que na economia mer-
cantil as relações sociais de produção assumem a forma de
coisas e não se expressam a não ser através de coisas.
Ainda segundo a interpretação marxista,
Existe uma estreita relação e correspondência entre o processo de
produção de bens materiais e a forma social em que esta é levada
a cabo, isto é, a totalidade das relações de produção entre os
homens (RUBIN, 1987, p. 35).
, Goiânia, v. 4, n.1, p. 437-454, jan./jun. 2006.
Contrariamente ao avassalador processo do consu-
mismo e individualismo que aciona valores e práticas sociais
predominantes na sociedade contemporânea, as manifesta-
ções do patrimônio imaterial – celebrações, rituais, conjunto
de saberes e fazeres, entre outras –, corporificam sentidos e
valores coletivos que ensejam sentimentos de pertencimento
dos indivíduos a um determinado grupo. Felizmente, docu-
mentos e reflexões produzidos pelo IPHAN, por acadêmicos
e outros atores sociais, advertem sobre a necessidade de se
pautar as ações de valorização do patrimônio imaterial pelo
conceito de “referência cultural”.
Tais reflexões ressaltam especialmente que o
patrimônio imaterial efetivamente não pode abrir mão do
conceito de “referência cultural”, pois é ele que informa a
prática do registro patrimonial, uma vez que ainda remete
ao processo de produção, às relações sociais entre os produ- 442
tores e igualmente ao repertório simbólico de um determi-
nado grupo social.
PATRIMÔNIO IMATERIAL: O CONCEITO
DE REFERÊNCIA CULTURAL
Como desvencilhar-se das armadilhas da mercanti-
lização desvairada que hoje reina na produção cultural e ar-
tística da sociedade contemporânea? Como tratar da própria
dinâmica relativa à produção e reprodução do patrimônio
imaterial?
Conforme já foi explicitado, um dos caminhos que
instaura e constitui o patrimônio imaterial é o conceito de
referência cultural1. Esse conceito derivou de intensa discus-
são e produção de múltiplos documentos, fruto do trabalho
obstinado do corpo técnico do IPHAN e de especialistas e aca-
dêmicos identificados com a temática do patrimônio cultural.
Sua importância deriva do fato de que seu foco re-
cai sobre os produtores dos bens culturais e não sobre o pro-
duto. Além disso, reforça o caráter simbólico e político do
processo de produção e apropriação do patrimônio cultural.
, Goiânia, v. 4, n.1, p. 437-454, jan./jun. 2006.
Segundo Londres (2000, p. 11):
Quando se fala em ‘referências culturais’, se pressupõem sujeitos
para os quais essas referências façam sentido (referências para
quem?). Essa perspectiva veio deslocar o foco do bem – que em
geral se impõe por sua monumentalidade, por sua riqueza, por
seu ‘peso’ material e simbólico – para a dinâmica de atribuição
de sentidos e valores. Ou seja, para o fato de que os bens cultu-
rais não valem por si mesmos, não têm um valor intrínseco. O valor
lhes é sempre atribuído por sujeitos particulares e em função de
determinados critérios e interesses historicamente condicionados.
A identificação e valorização do patrimônio cultural,
especialmente daquele designado como imaterial, pode ense-
jar o fortalecimento do espaço público, espaço privilegiado
443 onde múltiplos grupos sociais e suas manifestações culturais e
identitárias podem ser reconhecidos como representações le-
gítimas da cultura brasileira.
A idéia de referência cultural, além de permitir a
ênfase nos laços sociais entre os indivíduos, reforça a possibi-
lidade de formação de grupos – cantadores, dançarinos, artesãos
– e, o que é mais importante, reforça o diálogo entre diferen-
tes sujeitos e entre diferentes gerações.
O próprio conceito de referência cultural traz em
seu âmago a idéia de que as referências culturais se encon-
tram no bojo de um universo de significações que é compar-
tilhado, o que permite a coesão e comunicação entre diferentes
sujeitos (LONDRES, 2006).
Em suma, o conceito de referência cultural ressalta
o processo de produção e reprodução de um determinado
grupo social e aponta para a existência de um universo sim-
bólico compartilhado.
Tal perspectiva pode afastar qualquer “agência” (de
modo geral, o pesquisador) de cair no erro de focalizar sua
atenção unicamente nos resultados produzidos, nos produ-
tos, nos objetos finais, ou nos eventos em que ocorrem as
manifestações patrimoniais, o que permite ainda desmistificar
, Goiânia, v. 4, n.1, p. 437-454, jan./jun. 2006.
a noção abstrata de comunidade.
Para que o conceito de referência cultural seja de
fato operacionalizável e eficaz, é preciso vinculá-lo
indubitavelmente ao processo de produção e reprodução so-
cial de um grupo específico, ou de uma “comunidade real”,
o que, por sua vez, traz à tona o conceito de conflito entre
indivíduos e grupos, de suas lutas de poder e, por fim, até
mesmo a discussão sobre desenvolvimento sustentável.
Nesse sentido, mister se faz encorajar pesquisas que re-
lacionem a designação ou nomeação do patrimônio cultural aos
conflitos sociais e políticos presentes em cada paisagem social.
Outro ponto que se impõe à reflexão refere-se às
possíveis relações entre patrimônio cultural e poder local.
É preciso indagar de que modo o patrimônio imaterial está
sendo apropriado, seja pelo grupo produtor das manifesta-
ções culturais, seja pelas elites locais. 444
Numa curiosa reversão ideológica, o patrimônio
cultural, normalmente associado à história e à tradição, cada
vez mais adquire um valor positivo, justamente no momento
agudo da modernidade e da globalização.
É muito louvável a valorização e o reconhecimento
do patrimônio cultural, ao mesmo tempo ancorado na tradi-
ção e considerado índice de modernidade. Contudo, o peri-
go reside na apropriação politiqueira, patrimonialista, privatista
do patrimônio cultural, o que consiste em negar sua caracte-
rística mais poderosa e fonte de força e legitimidade, a de ser
o resultado de uma produção coletiva.
Enfatiza-se a relação entre poder local e patrimônio
cultural que deve ser cada vez mais pesquisada no Brasil, pois,
mesmo com o processo de democratização e modernização
da sociedade brasileira, o poder local e sua capacidade de
manipulação da tradição, da memória coletiva e da identida-
de local não podem jamais ser desprezados.
O DESAFIO DO FETICHE
Conforme já foi explicitado, assiste-se na sociedade
, Goiânia, v. 4, n.1, p. 437-454, jan./jun. 2006.
contemporânea a um intenso processo de mercantilização da
cultura. Nas últimas décadas, incrementou-se o consumo
cultural de massa, o que, por um lado, permitiu o acesso
mais igualitário aos equipamentos culturais por parte de di-
ferentes grupos sociais e, por outro lado, maquiou, ou pelo
menos simplificou ou banalizou as manifestações culturais
com o verniz do consumo.
Conforme já foi dito, o perigo que se corre é tomar
o patrimônio imaterial apenas pelas suas formas objetivadas,
transformadas em objetos ou produtos.
O que o conceito e mesmo a prática relativa ao pa-
trimônio imaterial trazem de mais fecundo é sua relação vis-
ceral com a vida social e cotidiana dos grupos sociais, que são
os sujeitos desse processo, porque portadores dos conheci-
mentos, dos saberes, fazeres e da memória dos lugares, como
445 as rendeiras, doceiras, paneleiras e artesãos em geral.
Sempre que as manifestações do patrimônio imaterial
se transformam em mercadorias, em entretenimento para o
consumo, em espetacularização, a ênfase é posta no fetiche.
O que sobressai é a relação entre coisas, entre mercadorias e
não as relações sociais entre os indivíduos produtores.
É preciso, portanto, não espetacularizar ou coisificar
o patrimônio, seja material ou imaterial, e um dos procedi-
mentos indispensáveis é não perder de vista o sentido que de-
terminada manifestação cultural tem para o grupo que a produz.
Nos diversos documentos que o IPHAN produziu
sobre o patrimônio cultural, encontra-se a preocupação com
esta temática.
Assim, segundo Arantes (2000, p. 24),
nosso primeiro desafio foi tornar viável a identificação e a docu-
mentação, dentro dos temas destacados, de conjuntos de referên-
cias ou bens culturais, que fossem significativos para grupos sociais
específicos. O segundo foi manter a associação desses bens aos
conjuntos (sistemas) e aos contextos que lhe dão sentido. E, fi-
nalmente, evitar a produção de um tipo de registro que conge-
lasse o processo social formador desses bens, como se eles fossem
, Goiânia, v. 4, n.1, p. 437-454, jan./jun. 2006.
objeto sem história.
O patrimônio cultural tem uma densidade simbóli-
ca diferenciada que deriva sua singularidade do resultado de
atividades coletivas e públicas. No entanto, não se pode es-
quecer que também o patrimônio revela e vela valores e inte-
resses e é sobretudo, um campo de lutas.
É nesse sentido que Arantes (2000, p. 27) chama a
atenção para o risco de o INRC ignorar eventuais reflexos
provocados pela sua própria ação:
o INRC deverá ter efeitos sobre o processo social e político pelo
qual se forma, legitima-se e dá-se publicidade ao patrimônio cul-
tural, com conseqüências para a formação e a reconfiguração das
identidades dos grupos e categorias sociais envolvidas. A reflexividade
do inventário poderá, assim, criar impactos sobre estratégias po- 446
líticas e de mercado associados ao patrimônio nos meios sociais
envolvidos. Essa possibilidade coloca um alerta sobre o processo
de escolha dos objetos que deverão ser aí incluídos nos repertórios
culturais a serem inventariados e as conseqüências políticas des-
sa decisão.
O patrimônio cultural pode, ainda, ser interpreta-
do como fato social total, pois é uma arena em que se
descortinam diversas dimensões, como a simbólica, a políti-
ca e a econômica.
É por esta mesma razão que é preciso observar o
poder econômico e político que hoje possuem os grandes
conglomerados de empresas turísticas e a vinculação que cada
vez mais procuram ter com o patrimônio. No entanto, con-
sideram-no simplesmente como um “agregador de valor”, o
que gera a tentativa de transformação do patrimônio em pura
mercadoria.
Outra questão importante em relação ao patrimônio
cultural, e já antes debatida pelos mais diferentes especialis-
tas, diz respeito ao processo de “gentrificação” (gentrification)2
e à atual concorrência entre as cidades, visando o incremento
, Goiânia, v. 4, n.1, p. 437-454, jan./jun. 2006.
das atividades turísticas.
Assim como o patrimônio imaterial não deve ser
confundido com cultura popular, ou folclore, o processo de
gentrificação não necessariamente preserva e qualifica o
patrimônio material nem promove necessariamente o desen-
volvimento sustentável e o desenvolvimento da cidadania
(SANTANA, 2003).
Análises já realizadas em diversos trabalhos acadê-
micos indicam que o processo de gentrificação também ex-
pulsa os grupos tradicionais do lugar, dissolve a trama social
e simbólica da “comunidade real” e constrói cenários urba-
nos adversos à constituição do espaço público onde, segundo
Arendt (1987), os mais diferentes sujeitos podem falar e agir
em público, isto é, perante outros e, no caso do Brasil, deve-
se acrescentar que, no espaço público, a diversidade cultural
447 pode tornar-se “visível e dizível” (FOUCAULT, 1972).
Além da indústria do turismo, dos processos de
gentrificação, da mercantilização desenfreada, outros feti-
ches rondam o patrimônio cultural. Assim, outro fetiche
que contamina o campo semântico do patrimônio cultural
diz respeito ao “colecionismo”, o fetiche dos colecionado-
res que insistem em reter o objeto e transformá-lo em “coi-
sa sagrada” e privada, sem a possibilidade do acesso e da
fruição do público.
Igualmente não se pode reificar a categoria “inter-
pretação do nativo” ou “representação dos nativos”. A idéia
de representação do nativo é cara à Antropologia, especial-
mente em sua vertente etnográfica. No entanto, é preciso,
em cada situação específica, situar quem são os nativos, não
só em sua constituição interna, como também qualificar o
“lugar de fala” de cada um.
Mais do que situar sociológica e historicamente
aqueles que compõem o “grupo dos nativos”, é impor-
tante, sobremodo, situar tal grupo em suas conexões ex-
ternas, isto é, no relacionamento de conflito ou de consenso
diante de outros grupos sociais e, até, no relacionamen-
to com os poderes locais, estaduais e federais, especial-
, Goiânia, v. 4, n.1, p. 437-454, jan./jun. 2006.
mente com o IPHAN.
Outro perigo é o fetiche da idéia de comunidade. Con-
forme Baumann (2001), uma das conseqüências da modernida-
de líquida é a ênfase na noção de comunidade, já que a idéia de
sociedade como uma totalidade histórica concreta – idéia cara à
“modernidade sólida” – está em franco declínio.
Baumann (apud ROBSBAWN, 2001, p. 27) em suas
análises sobre o século XX – que estão no livro A era dos
impérios –, afirma: “nunca se falou tanto em comunidade e
nunca foi tão difícil encontrar comunidades reais”.
É comum, no discurso sobre patrimônio imaterial,
o estabelecimento da relação entre as práticas culturais a ele
concernentes e a comunidade.
A comunidade, muitas vezes, aparece como uma
realidade abstrata, neutra, cuja dinâmica singular não se
conhece ou se discute. A existência da comunidade é ape- 448
nas postulada, no plano discursivo aparece como uma “co-
munidade imaginada”, numa metáfora com a idéia de na-
ção, na suposição de que os laços sociais entre os indivíduos
sejam sólidos, duradouros, e em cuja seio encontra-se acon-
chego e segurança.
Uma das tendências da chamada sociedade pós-in-
dustrial, pós-ideológica e pós-política é transformar um con-
junto de idéias em entidades neutras, auto-gestadas, anteriores
e impermeáveis a qualquer experiência histórica. Neste con-
junto de idéias destacam-se algumas: mercado, comunidade,
tecnologia, multiculturalismo.
Essas idéias são aduzidas para descrever a sociedade
contemporânea e, conforme foi dito, são tomadas como rea-
lidades dadas.
•i•ek (1999), filósofo contemporâneo, tem ende-
reçado críticas contundentes à sociedade de consumo e às
ideologias do multiculturalismo e da globalização como es-
pecíficas do capitalismo tardio.
Segundo esse autor,
nas condições sociais do capitalismo tardio, a materialidade mesma
, Goiânia, v. 4, n.1, p. 437-454, jan./jun. 2006.
do Ciberespaço gera automaticamente a ilusão de um espaço
abstrato, com intercâmbio ‘livre de fricção’, no qual se apaga a
particularidade da posição social dos participantes (•I•EK,1999,
p. 24).
A disseminação das tecnologias da informação, do
mercado, do consumo e da mercantilização da cultura ocor-
rem de modo paralelo à naturalização destes conceitos e des-
tas práticas.
Ainda conforme •i•ek (1999), conforme, para a dis-
seminação indiscriminada destas práticas, “é fundamental o
apagamento da distinção entre “cultura” e “natureza” a contra-
face da “naturalização da cultura” (o mercado, a comunidade,
considerados como organismos vivos, é a “culturalização da
natureza”). A vida mesma é concebida como um conjunto de
449 dados que se auto-reproduzem.
[...] esta naturalização da internet (world wide web), do mer-
cado e da comunidade, oculta o conjunto de relações de poder
(de decisões políticas de condições institucionais que requerem os
‘organismos’ como a Internet, ou o mercado, ou o capitalismo
para prosperar (•I•EK, 1999, p. 32).
Assim, o momento histórico atual requer uma vigi-
lância crítica, severa, a fim de evitar o fetichismo da comuni-
dade, quando esta é definida como um todo orgânico, fundado
no consenso “natural” entre as partes e no fetiche do merca-
do, quando este é definido como uma realidade autônoma e
auto-regulada.
Outro ponto que merece reflexão diz respeito ao fato
de que o patrimônio cultural exibe um dos paradoxos mais
contundentes dos tempos atuais, uma vez que, necessariamen-
te, se associa à tradição, à história, à modernidade sólida e, ao
mesmo tempo, precisa sintonizar-se com a pós-modernidade
e, mais do que isto, com a agenda contemporânea.
Diante das novas engrenagens avassaladoras da so-
ciedade de consumo, que passa seu rolo compressor sobre o
relevo da história, e tendo em vista que as idéias relativas ao
, Goiânia, v. 4, n.1, p. 437-454, jan./jun. 2006.
patrimônio cultural e às práticas de preservação são descen-
dentes diretas da modernidade, carregam-se e ao mesmo tempo,
produzem-se novas tradições. Dessa forma, torna-se impera-
tivo problematizar a noção de tradição. Quem a definiu? A partir
de que lugar? Com que legitimidade? Como se constituem
os processos de sua transmissão?
Especialmente em relação ao patrimônio imaterial, uma
das formas de evitar as armadilhas do fetichismo, do individua-
lismo e do consumismo é colocar a ênfase nos processos de trans-
missão da tradição, do saber-fazer, das rezas, das danças, das
práticas alimentares e não, simplesmente, no produto.
Isto porque, apesar de as práticas patrimoniais se-
rem igualmente apropriadas pela sociedade de consumo, elas
têm valores simbólicos que expressam uma densidade e uma
profundidade que lhes permite transcender a condição de
uma mercadoria qualquer. 450
Tal fato é possível porque as manifestações do
patrimônio cultural (material ou imaterial) só fazem sentido
quando evidenciam seu próprio sentido e estão associadas às
referências culturais concretas advindas de um universo sim-
bólico compartilhado coletivamente.
A tradição cultural é fruto de uma tessitura muito
complexa que os indivíduos tecem com base em elementos
da história, da memória e do cotidiano.
E desta forma, a produção social do patrimônio cul-
tural incide sobre a reprodução social dos grupos produtores
de tais manifestações, o que, em muitos casos, têm gerado
desenvolvimento sustentável para os grupos produtores, como,
por exemplo, para as mulheres produtoras de panelas de bar-
ro no Espírito Santo, as chamadas “paneleiras”, que foram
objeto do primeiro registro de patrimônio imaterial.
O que parece garantir a densidade simbólica do patrimônio
cultural é estar ele ancorado na profundidade das reações sociais
que tecem a armadura das manifestações patrimoniais, como, por
exemplo, as festas populares, as romarias, as festas juninas, o sam-
ba-de-roda baiano, a dança da catira em Minas Gerais e Goiás.
O que garante ainda tal singularidade simbólica é o
, Goiânia, v. 4, n.1, p. 437-454, jan./jun. 2006.
enraizamento dessas manifestações culturais num repertório so-
cial vivenciado coletivamente, o que proporciona a atribuição
de sentido à vida social de modo visceral e não apenas artificial.
A atribuição de sentido às práticas culturais permi-
te associar elementos e acontecimentos da realidade social
concreta e faz com que os sujeitos sociais construam o pró-
prio sentido da sua identidade social.
No documento diretriz “como ler o Inventário Na-
cional de Referência Cultural” (INRC), encontra-se defini-
da a idéia de sentido patrimonial como um dos sustentáculos
necessários para o registro de patrimônio imaterial.
Conforme o próprio documento,
o trabalho cultural de construção de sentidos e sobre significa-
ções baseado no concreto e com elementos do concreto – pois
451 não é inerente à natureza de tais objetos, práticas e lugares o
fato de serem associados à identidade – confere reflexivamente
a essas realidades o que se poderia chamar de sentido patrimonial,
ou seja, elas passam a integrar um repertório diferenciado de
distâncias com que se constroem as fronteiras simbólicas e com
que se configuram as imagens de si e de outrem. É este o seu
valor como ingrediente da construção de identidades, ou seja,
de tradições e de territórios (INCR – IPHAN – MIN. 2000).
CONCLUSÃO
A reflexão aqui proposta dirigiu-se à dinâmica cultural
contemporânea, que tem experimentado um conjunto vasto de
transformações que, por sua vez, apontam tanto para promisso-
ras alternativas e novas possibilidades de valorização da cultura,
quanto para uma brutal reificação e instrumentalização da cul-
tura, visando ampliar a sociedade de consumo e, por decorrên-
cia, o incremento do desenvolvimento do capitalismo.
Enfatizou-se que o patrimônio cultural não pode trans-
formar-se em “consumo para entretenimento”, ou em negócio
(Bussiness), ou tão-somente em mercadoria de consumo cultural.
Enfim, o patrimônio cultural não pode reduzir seu
, Goiânia, v. 4, n.1, p. 437-454, jan./jun. 2006.
valor, seu sentido patrimonial aos objetos produzidos (arte-
fatos ou rituais). Em suma, é preciso evitar a armadilha do
fetiche, a partir da qual se personalizam relações entre coisas
e se naturalizam relações sociais.
Concluindo,pode-se afirmar que a riqueza do patrimônio
cultural consiste em seu poder de reforçar a idéia de pertencimento
ao todo coletivo e em reforçar a identidade social dos mais dife-
rentes grupos, trazendo para o espaço público múltiplas mani-
festações culturais, afastando, assim, com a força simbólica de
sua constituição, todos os fetiches e simulacros.
Referências
ABREU, R.; CHAGAS, M. (Orgs.). Memória e patrimônio. Rio de Janeiro:
DPGA, 2003. 452
ANDRADE, M. Cartas de trabalho: correspondência com Rodrigo Mello
Franco de Andrade. Brasília: IPHAN. Fundação Nacional Pró-Memória, 1981.
ANDRADE, M. O turista aprendiz. São Paulo: Duas Cidades, Secretaria
de Cultura, Ciência e Tecnologia, 1976.
ARANTES, A. A. Como ler o INRC. In: INRC. Inventário Nacional de
Referências Culturais. Manual de Aplicação. Departamento de
Identificação e Documentação. IPHAN. Minc, 2000.
ARENDT, H. Condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987
ARENDT, H. Condição humana. Rio de Janeiro: Forense, 1987.
ARENDT, H. Crises da república. São Paulo: Perspectiva, 2004b.
ARENDT, H. O que é política? Fragmentos das Obras Póstumas
Compilados por Ursula Ludz. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2004a.
BAUMANN, Z. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001.
BENJAMIN, W. Experiência e pobreza. In: OBRAS Escolhidas. Magia e
Técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1994.
FABIAN, J. Time and the other: how anthropology makes its object. New
York: Columbia University Press, 2002.
FOULCAULT. Arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Vozes, 1972.
HABERMAS, J. Coleção grandes cientistas sociais. Organização e introdução
Bárbara Freitag. São Paulo: Ática, 1981.
HEGEL, G. W. F. Fenomenologia do espírito e introdução à Filosofia da
História. São Paulo: Abril, 1981. (Coleção Os Pensadores).
, Goiânia, v. 4, n.1, p. 437-454, jan./jun. 2006.
HONNETH, A. Lutas por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos
sociais. São Paulo: [s.n.], 2003.
JAMESON, F. Pos-modernism, or the cultural logic of late capitalism.
Durham: Duke University Press, 1991.
KOJÈVE, A. Introdução à leitura de Hegel. Rio de Janeiro: Eduerj;
Contraponto, 2002.
LONDRES, C. Para além da pedra e cal: por uma concepção ampla de
patrimônio. Revista Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 147, out-dez, 2001.
LONDRES, C. Referências culturais: base para novas políticas de
patrimônio. In: Inventário Nacional de Referências Culturais. Manual
de aplicação IPHAN. [S.l.:s.n.], 2000, Minc.
MÁRCIA, S. A Cidade atração: patrimônio e valorização de áreas culturais
no Brasil dos anos 90. In: SEMINÁRIO Internacional, sobre museus e
cidades. Museu Rio de Janeiro: Histórico Nacional, 2003.
ROCHLITZ, R. O desencantamento da arte: a filosofia de Walter
453 Benjamin. Bauru/São Paulo: Edusc, 2003.
RUBIN, I. I. A teoria marxista do valor. São Paulo: Polis, 1987. (Coleção
Teoria e História).
SANTANA M. a face imaterial do patrimônio cultural: os novos
instrumentos de reconhecimento e valorização. In: ABREU, R.;
CHAGAS, M. Memória e patrimônio. Rio de Janeiro: DPGA, 2003.
•I•EK, S. Estúdios culturales: reflexiones sobre el multiculturalismo.
Barcelona: Paidós, 1999.
Abstract: the article deals with the deep mercantilization of culture prevailing
in contemporary society, which may influence the dynamics of production
and reproduction of artistic manifestations that integrate the universe of
assets. It also discusses the risk of turning cultural manifestations into fetichism,
arguing that emphasis related to immaterial assets must be on production
and reproduction of social group and on forms of transmitting such asset.
In addition, it also argues that patrimonial goods are differentiated from
other goods whereas they have an specific symbolic density that results from
its eminently collective production.
Key words: patrimony, fetiche, consumption, merchandise
Notas
1
O patrimônio imaterial foi oficialmente instituído pelo Decreto n. 3.551
, Goiânia, v. 4, n.1, p. 437-454, jan./jun. 2006.
assinado pelo Presidente da República em agosto de 2000. Esse decreto
estabelece procedimentos que foram normatizados pelo IPHAN, desig-
nado como o Órgão representante do Estado e responsável pelo registro
de determinada manifestação cultural, considerada um bem patrimonial
que ocupa lugar legítimo no repertório da cultura brasileira.
2
Gentrificação ou gentrification significa enobrecimento e renovação de
áreas urbanas degradadas, especialmente os centros históricos.
* Professora no Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília
e do Instituto Rio Branco – M.R.E. – Brasília-DF. Antropóloga. Socióloga.
E-mail: mveloso@unb.br 454
Você também pode gostar
- Projecto de Redes para Supermercado PDFDocumento126 páginasProjecto de Redes para Supermercado PDFShimon Whoami Demicovitch100% (1)
- GE - Casa de PazDocumento42 páginasGE - Casa de PazMarcos D. Quirino100% (5)
- Patrimônio Histórico e CulturalDocumento15 páginasPatrimônio Histórico e CulturalRafaella MirandaAinda não há avaliações
- Patrimonialização Das Diferenças e Os Novos Sujeitos de Direito Coletivo No Brasil - Regina AbreuDocumento40 páginasPatrimonialização Das Diferenças e Os Novos Sujeitos de Direito Coletivo No Brasil - Regina AbreuCândido Detoni GazzoniAinda não há avaliações
- Os Usos Damemoria e Do Patrimonio Cultural Na Sala de AulaDocumento11 páginasOs Usos Damemoria e Do Patrimonio Cultural Na Sala de AulaRecirio GuerinoAinda não há avaliações
- 74255-Texto Do Artigo-99809-1-10-20140210Documento10 páginas74255-Texto Do Artigo-99809-1-10-20140210Laina HonoratoAinda não há avaliações
- 23 OriginalDocumento14 páginas23 OriginalRui MotaAinda não há avaliações
- Trabalho de Antropologia Ester RudovalhoDocumento7 páginasTrabalho de Antropologia Ester RudovalhoPedro AntônioAinda não há avaliações
- Os Atores Da Preservação Do Patrimonio Cultural No Brasil PDFDocumento55 páginasOs Atores Da Preservação Do Patrimonio Cultural No Brasil PDFadamAinda não há avaliações
- ArquivoDocumento16 páginasArquivoLemos ManuelAinda não há avaliações
- 12-14-Gonçalves - 2007 (2) - 213Documento1 página12-14-Gonçalves - 2007 (2) - 213THALLES YVSON ALVES DE SOUZAAinda não há avaliações
- ARQ352 2022 Aula01Documento34 páginasARQ352 2022 Aula01Júlia RuasAinda não há avaliações
- 49986-Texto Do Artigo-61707-1-10-20130116Documento14 páginas49986-Texto Do Artigo-61707-1-10-20130116Fabiana MottaAinda não há avaliações
- PACHECO - Ricardo de Aguiar - O Patrimônio Histórico - Objeto de Pesquisa Do Historiador - 2017Documento10 páginasPACHECO - Ricardo de Aguiar - O Patrimônio Histórico - Objeto de Pesquisa Do Historiador - 2017Dias DanielAinda não há avaliações
- Ilovepdf MergedDocumento24 páginasIlovepdf MergedTHALLES YVSON ALVES DE SOUZAAinda não há avaliações
- Patrimonio Cultural Aula 2Documento9 páginasPatrimonio Cultural Aula 2dssuzukiAinda não há avaliações
- Aula 02 Patrimà Nio Cultural e Natural PDFDocumento42 páginasAula 02 Patrimà Nio Cultural e Natural PDFEloisa PortiaAinda não há avaliações
- Soc 1L2 2023Documento18 páginasSoc 1L2 2023André Luís (Dinoghosty)Ainda não há avaliações
- Ulpiano de MenezesDocumento5 páginasUlpiano de MenezesLUIZ PAULO DOS SANTOS FORTUNATOAinda não há avaliações
- 1PRJ091N2 SantaCruzCabralia FredericoDocumento20 páginas1PRJ091N2 SantaCruzCabralia FredericoJanine SilvaAinda não há avaliações
- A1 - Museus, Arquivos e Patrimônio HistóricoDocumento35 páginasA1 - Museus, Arquivos e Patrimônio HistóricoSemele CassAinda não há avaliações
- Cavalcanti & Goncalves Cultura, FestasDocumento32 páginasCavalcanti & Goncalves Cultura, FestasCarla MirandaAinda não há avaliações
- 937-Texto Do Artigo-3333-1-10-20160302Documento22 páginas937-Texto Do Artigo-3333-1-10-20160302ANA CLARA NUMERIANO DE SA GOMESAinda não há avaliações
- CASTELLS, Alicia Norma González de - Políticas de Patrimônio - Entre A Exclusão e o Direito À CidadaniaDocumento14 páginasCASTELLS, Alicia Norma González de - Políticas de Patrimônio - Entre A Exclusão e o Direito À Cidadaniam.platiniAinda não há avaliações
- Patrimônio Histórico, Bens Culturais, História Pública eDocumento11 páginasPatrimônio Histórico, Bens Culturais, História Pública eSheyla FariasAinda não há avaliações
- 1.1 HumanasDocumento17 páginas1.1 HumanasEduarda AraújoAinda não há avaliações
- 01380026092020cultura e Memoria Social Aula 03Documento18 páginas01380026092020cultura e Memoria Social Aula 03Franck Wirlen QuadrosAinda não há avaliações
- 1o Cap Apostila História e Patrimônio Cultural - p09-39Documento31 páginas1o Cap Apostila História e Patrimônio Cultural - p09-39Marcel Oliveira de SouzaAinda não há avaliações
- Colecionamento PDFDocumento13 páginasColecionamento PDFmengao campeaoAinda não há avaliações
- Restituição e Reparação - Refletindo Sobre Patrimônios em Diáspora (Márcia Chuva)Documento20 páginasRestituição e Reparação - Refletindo Sobre Patrimônios em Diáspora (Márcia Chuva)MaDuAinda não há avaliações
- Reginaldo Gonçalves, Antropologia - Dos - Objetos - V41-107-117Documento11 páginasReginaldo Gonçalves, Antropologia - Dos - Objetos - V41-107-117João MarinoAinda não há avaliações
- Cadernos de TeresinaDocumento14 páginasCadernos de TeresinaBeto CavalcanteAinda não há avaliações
- Couto 2011 - Porto de Trás Etnicidade Turismo e PatrimonializaçãoDocumento12 páginasCouto 2011 - Porto de Trás Etnicidade Turismo e PatrimonializaçãoGiovana PinheiroAinda não há avaliações
- O Que Construímos Quando Construímos - Maria Clara Lima - Maria Eduarda CoutinhoDocumento14 páginasO Que Construímos Quando Construímos - Maria Clara Lima - Maria Eduarda Coutinhocontato.mariarqAinda não há avaliações
- O Que Construímos Quando Construímos - Maria Clara Lima - Maria Eduarda CoutinhoDocumento14 páginasO Que Construímos Quando Construímos - Maria Clara Lima - Maria Eduarda Coutinhocontato.mariarqAinda não há avaliações
- Capitulo KellyDocumento15 páginasCapitulo KellyKelly FreitasAinda não há avaliações
- TEMA 6 - O Patrimônio Histórico e Cultural em Questão No BrasilDocumento2 páginasTEMA 6 - O Patrimônio Histórico e Cultural em Questão No BrasilJhonatan PerottoAinda não há avaliações
- 932-Texto Do Trabalho-2281-1-10-20120723Documento8 páginas932-Texto Do Trabalho-2281-1-10-20120723Évila SáAinda não há avaliações
- 2008 Capliv AgrnogueiraDocumento12 páginas2008 Capliv AgrnogueiraBruno FioravanteAinda não há avaliações
- Diversidade Cultural e CosmopolitismoDocumento1 páginaDiversidade Cultural e CosmopolitismoMike SantosAinda não há avaliações
- Coleções de Objetos: Memória Tangível Da Cultura MaterialDocumento13 páginasColeções de Objetos: Memória Tangível Da Cultura MaterialBarbaraAinda não há avaliações
- 5408-Texto Do Artigo-18432-1-10-20210810Documento10 páginas5408-Texto Do Artigo-18432-1-10-20210810Paulo AlbertoAinda não há avaliações
- Guerra 2020Documento15 páginasGuerra 2020Frederico DinisAinda não há avaliações
- Fichamentos MemoriaDocumento3 páginasFichamentos MemoriaWalmirRodriguesAinda não há avaliações
- Artigo - Identificação, Valorização e Preservação Do PatrimonioDocumento17 páginasArtigo - Identificação, Valorização e Preservação Do PatrimonioJoel PantojaAinda não há avaliações
- O Patrimonio Como Categoria de Pensamento. In. Memoria e Patrimonio Ensaios Contemporaneos. Lamparina 2009. - Goncalves J. R. S-LibreDocumento6 páginasO Patrimonio Como Categoria de Pensamento. In. Memoria e Patrimonio Ensaios Contemporaneos. Lamparina 2009. - Goncalves J. R. S-LibreCarol SilvaAinda não há avaliações
- Texto 2-12-33Documento22 páginasTexto 2-12-33Nariângela da SilvaAinda não há avaliações
- 19681-Texto Do Artigo-86406-2-10-20130514Documento10 páginas19681-Texto Do Artigo-86406-2-10-20130514jessica moraesAinda não há avaliações
- Mapa Mental - Topico 4Documento1 páginaMapa Mental - Topico 4joao pauloAinda não há avaliações
- O Suplício Do BauruzinhoDocumento19 páginasO Suplício Do BauruzinhoTiagoAinda não há avaliações
- ANTROPOLOGIA - TRABALHO FINAL - Itana VitóriaDocumento3 páginasANTROPOLOGIA - TRABALHO FINAL - Itana VitóriaitanagoixAinda não há avaliações
- Capital CulturalDocumento22 páginasCapital CulturalEunice Pitanga100% (1)
- Definições Do Patrimonio - Camylla Oliveira MaiaDocumento8 páginasDefinições Do Patrimonio - Camylla Oliveira MaiaCamylla MaiaAinda não há avaliações
- Cartilha PatrimonioDocumento10 páginasCartilha PatrimonioDaniel TomaziniAinda não há avaliações
- A Expansão Do Patrimonio Novos Olhares PDFDocumento24 páginasA Expansão Do Patrimonio Novos Olhares PDFsoquerobaixarAinda não há avaliações
- Construção Holística Do Patrimônio Cultural - História, Conceitos e DefiniçõesDocumento14 páginasConstrução Holística Do Patrimônio Cultural - História, Conceitos e DefiniçõesLucasAinda não há avaliações
- FichamentoDocumento19 páginasFichamentoBlandu CorreiaAinda não há avaliações
- Bravas Mulheres: Discutindo Gênero Através Da ExpografiaDocumento23 páginasBravas Mulheres: Discutindo Gênero Através Da ExpografiaDaniele BorgesAinda não há avaliações
- Texto 1 - OS CAMPOS DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL DISPUTASDocumento14 páginasTexto 1 - OS CAMPOS DA MEMÓRIA E DO PATRIMÔNIO CULTURAL DISPUTASNariângela da SilvaAinda não há avaliações
- 13 - Catira em QueirnópolisDocumento11 páginas13 - Catira em QueirnópolisCleriston Sarti MachadoAinda não há avaliações
- O canto na Umbanda: uma Análise do Discurso dos pontos cantadosNo EverandO canto na Umbanda: uma Análise do Discurso dos pontos cantadosAinda não há avaliações
- Raízes da Diversidade Cultural: Aproximações e Distanciamentos da Diversidade Cultural na Escola em Contraste com o Mito da Torre de BabelNo EverandRaízes da Diversidade Cultural: Aproximações e Distanciamentos da Diversidade Cultural na Escola em Contraste com o Mito da Torre de BabelAinda não há avaliações
- SAUTCHUK.2007 - Arpão e AnzolDocumento402 páginasSAUTCHUK.2007 - Arpão e Anzolana_francescoAinda não há avaliações
- Governo Do Estado de Goiás: Gabinete Civil Da GovernadoriaDocumento2 páginasGoverno Do Estado de Goiás: Gabinete Civil Da GovernadoriaDaniela BarrosAinda não há avaliações
- Racismo, Infância e Escola - Reflexões Sobre A Temática Racial Na Educação Infantil PDFDocumento22 páginasRacismo, Infância e Escola - Reflexões Sobre A Temática Racial Na Educação Infantil PDFDaniela BarrosAinda não há avaliações
- Escovar A História À Contrapelo - LivroDocumento91 páginasEscovar A História À Contrapelo - LivroDaniela BarrosAinda não há avaliações
- Hq-Zumbi 0 PDFDocumento40 páginasHq-Zumbi 0 PDFanaemidiasousarochaAinda não há avaliações
- Racismo, Infância e Escola - Reflexões Sobre A Temática Racial Na Educação Infantil PDFDocumento22 páginasRacismo, Infância e Escola - Reflexões Sobre A Temática Racial Na Educação Infantil PDFDaniela BarrosAinda não há avaliações
- Textos Sobre Os Livros de Elungu PDFDocumento6 páginasTextos Sobre Os Livros de Elungu PDFDaniela BarrosAinda não há avaliações
- Dirceu Lindoso - A Razão QuilombolaDocumento153 páginasDirceu Lindoso - A Razão QuilombolaDaniela Barros100% (1)
- Textos Sobre Os Livros de Elungu PDFDocumento6 páginasTextos Sobre Os Livros de Elungu PDFDaniela BarrosAinda não há avaliações
- Afroceará Quilombola - LivroDocumento214 páginasAfroceará Quilombola - LivroDaniela Barros100% (1)
- A Construção Do Sujeito Pela Educação - Revisitando Paulo FreireDocumento12 páginasA Construção Do Sujeito Pela Educação - Revisitando Paulo FreireDaniela BarrosAinda não há avaliações
- Do Tráfico Ao Pós-Abolição - E-BookDocumento537 páginasDo Tráfico Ao Pós-Abolição - E-BookDaniela Barros100% (1)
- Diálogo Intercultural Na Educação AmbientalDocumento134 páginasDiálogo Intercultural Na Educação AmbientalDaniela Barros100% (1)
- Refúgio No Brasil - IPEA PDFDocumento244 páginasRefúgio No Brasil - IPEA PDFDaniela BarrosAinda não há avaliações
- COELHO, Música Indígena No MercadoDocumento16 páginasCOELHO, Música Indígena No MercadoDaniela BarrosAinda não há avaliações
- Apostila Padeiro PDFDocumento36 páginasApostila Padeiro PDFTaila Becker100% (2)
- Filosofos ClassicosDocumento12 páginasFilosofos ClassicosRubens Reis50% (2)
- NBR 15280 1 2009 Dutos Terrestres Projeto PDFDocumento83 páginasNBR 15280 1 2009 Dutos Terrestres Projeto PDFRodison MenezesAinda não há avaliações
- Gestão de Mídias Sociais (Sandra Turchi)Documento79 páginasGestão de Mídias Sociais (Sandra Turchi)Anna Carla DuarteAinda não há avaliações
- Problemas Inteligência ArtificialDocumento98 páginasProblemas Inteligência ArtificialengcompemaAinda não há avaliações
- Avaliação Psicológica Adulto Senescente APRESENTAÇÃODocumento18 páginasAvaliação Psicológica Adulto Senescente APRESENTAÇÃOruiAinda não há avaliações
- Impermeabilização de BanheirosDocumento8 páginasImpermeabilização de BanheirosLéo RomeroAinda não há avaliações
- Nutrição - 1 - Introdução A Nutrição PDFDocumento19 páginasNutrição - 1 - Introdução A Nutrição PDFAnderson FerroBemAinda não há avaliações
- Portfólio - Eric Lima 2023 - 20231113 - 232111 - 0000Documento12 páginasPortfólio - Eric Lima 2023 - 20231113 - 232111 - 0000pektrosbeastAinda não há avaliações
- ICT 517 - Revisão para 1a ProvaDocumento12 páginasICT 517 - Revisão para 1a ProvaVictor LopesAinda não há avaliações
- Amitav Acharya - Why Is There No Non-Western International Relations Theory An Introduction - PORTUGUESDocumento27 páginasAmitav Acharya - Why Is There No Non-Western International Relations Theory An Introduction - PORTUGUESRenato SilvaAinda não há avaliações
- Artigo Sobre o Trabalho ColaborativoDocumento10 páginasArtigo Sobre o Trabalho ColaborativoAlex Silvio de MoraesAinda não há avaliações
- Turismo Como Fenômeno ComplexoDocumento35 páginasTurismo Como Fenômeno ComplexoMoabe Breno Ferreira CostaAinda não há avaliações
- Sohravardî e As Origens Da Noção de Mundo ImaginalDocumento15 páginasSohravardî e As Origens Da Noção de Mundo ImaginalrogeriozaiaAinda não há avaliações
- Memória, Emoção e Cognição: Percorrendo Caminhos Na Construção de Conhecimentos No Ensino de Química Articulado Com Linguagens Artísticas Sonoras e VisuaisDocumento44 páginasMemória, Emoção e Cognição: Percorrendo Caminhos Na Construção de Conhecimentos No Ensino de Química Articulado Com Linguagens Artísticas Sonoras e VisuaisIsaac WalonAinda não há avaliações
- DAsdasdasqewqe 13213 Sadwqe 1312312 DsadDocumento15 páginasDAsdasdasqewqe 13213 Sadwqe 1312312 DsadVictor Alves CarvalhoAinda não há avaliações
- Verdade e ValidadeDocumento11 páginasVerdade e Validadefonseca75Ainda não há avaliações
- Penha - Laranjeiras / Largo Do Machado (Brs 3 - Via Lapa) : Horários, Paradas e Mapa Da Linha de Ônibus 497Documento14 páginasPenha - Laranjeiras / Largo Do Machado (Brs 3 - Via Lapa) : Horários, Paradas e Mapa Da Linha de Ônibus 497marcosbat2005Ainda não há avaliações
- Práticas Sobre A Linguagem Scheme: Abordagem FuncionalDocumento30 páginasPráticas Sobre A Linguagem Scheme: Abordagem FuncionalHercilio Duarte100% (1)
- Atividade de Envio (SILVIO) .Documento2 páginasAtividade de Envio (SILVIO) .Phelyp OliveiraAinda não há avaliações
- Fatoracao de Expressoes AlgebricasDocumento8 páginasFatoracao de Expressoes AlgebricasDiegoLuisAinda não há avaliações
- Edital de Processo Seletivo para Ingresso No Curso de Mestrado Do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas Da Faculdade de Farmácia Da Ufrj - Segundo Semestre de 2023Documento6 páginasEdital de Processo Seletivo para Ingresso No Curso de Mestrado Do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas Da Faculdade de Farmácia Da Ufrj - Segundo Semestre de 2023MayAinda não há avaliações
- Lei #6287 DE 28/12/2017Documento7 páginasLei #6287 DE 28/12/2017Thiago NunesAinda não há avaliações
- Logica ProgramaçãoDocumento134 páginasLogica ProgramaçãoMarcone GomesAinda não há avaliações
- ZAT CompletoDocumento106 páginasZAT CompletogajoqueAinda não há avaliações
- A Primeira Heresia Que A Igreja Primitiva Enfrentou Foi o GnosticismoDocumento3 páginasA Primeira Heresia Que A Igreja Primitiva Enfrentou Foi o GnosticismoPaula IndiacuíAinda não há avaliações
- Nutrição e Dietética DietoterapiaDocumento26 páginasNutrição e Dietética Dietoterapiarsilva14bimtz100% (2)
- Aula 13 - 6º MAT - Possibilidades e ProbabilidadeDocumento5 páginasAula 13 - 6º MAT - Possibilidades e ProbabilidadeJeane Silva100% (1)