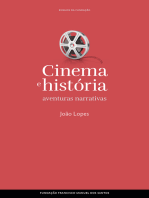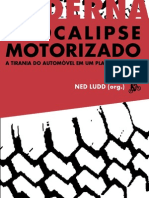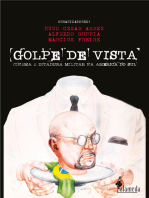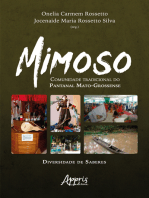Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Fichamento COMOLLI, J-L. Ver e Poder
Enviado por
Daniel Moutinho0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
144 visualizações14 páginasEste documento apresenta trechos do prefácio e da introdução do livro "Ver e poder: a inocência perdida" de Jean-Louis Comolli. O autor reflete sobre o papel do cinema documentário frente à proliferação dos espetáculos e simulações na era digital. Ele defende que o documentário pode mostrar aspectos da realidade que escapam a esses formatos, como processos lentos e transformações invisíveis. A introdução discute a distinção entre ficção e documentário, afirmando que ambos comportam elementos do outro e dependem da relação com o espect
Descrição original:
Título original
Fichamento COMOLLI, J-L. Ver e poder
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoEste documento apresenta trechos do prefácio e da introdução do livro "Ver e poder: a inocência perdida" de Jean-Louis Comolli. O autor reflete sobre o papel do cinema documentário frente à proliferação dos espetáculos e simulações na era digital. Ele defende que o documentário pode mostrar aspectos da realidade que escapam a esses formatos, como processos lentos e transformações invisíveis. A introdução discute a distinção entre ficção e documentário, afirmando que ambos comportam elementos do outro e dependem da relação com o espect
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
144 visualizações14 páginasFichamento COMOLLI, J-L. Ver e Poder
Enviado por
Daniel MoutinhoEste documento apresenta trechos do prefácio e da introdução do livro "Ver e poder: a inocência perdida" de Jean-Louis Comolli. O autor reflete sobre o papel do cinema documentário frente à proliferação dos espetáculos e simulações na era digital. Ele defende que o documentário pode mostrar aspectos da realidade que escapam a esses formatos, como processos lentos e transformações invisíveis. A introdução discute a distinção entre ficção e documentário, afirmando que ambos comportam elementos do outro e dependem da relação com o espect
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 14
COMOLLI, Jean-Louis.
Ver e poder: a inocência perdida: cinema,
televisão, ficção, documentário. Tradução de Augustin de Tugny, Oswaldo
Teixeira e Ruben Caixeta. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2008.
PREFÁCIO À EDIÇÃO FRANCESA (pp. 9-25)
A INOCÊNCIA PERDIDA (pp. 9-16)
“Na era dos clipes, dos videogames, da publicidade, dos reality shows, o que temos a fazer em
relação ao cinema? Na época das simulações, dos programas, dos oráculos, dos roteiros, das
sondagens, das previsões e precauções, a que outro presente o cinema documentário pode nos
abrir?” (p.9)
“É propriamente o cinema – e não a televisão – que mostra quais são os limites do poder de ver.
O mundo ainda escapa, coisa impressionante, aqui ou ali, à proliferação dos espetáculos, e o
cinema documentário é o primeiro a dar testemunho dessas escapadas e dessa teimosia: é
preciso mostrar o horror? E como, e até onde? Como representar os processos lentos, invisíveis,
as transformações ou metamorfoses dos espíritos e das matérias? Como mostrar o trabalho, suas
temporalidades, suas durações que escapam ao divertimento?” (p. 10)
“No momento atual, o cinema não é mais o laboratório onde se inventa o ‘novo espectador’.
Essa tarefa é das televisões.” (p. 12)
“Em sua parte documentária – que é a marca de seu nascimento e a condição de sua invenção –,
o cinema nada faz além de abrir o diafragma de uma lente, a sensibilidade de uma emulsão, a
duração de uma exposição, o tempo de sua passagem, à presença luminosa do outro, mais ou
menos – toda a questão está nessa gradação –, desse outro que vem à câmera tanto quanto ela
vem a ele. Abertura, impressão, duração, passagem: o cinema é a paixão da figura humana.” (p.
13)
“Seríamos bastante imbecis em não entender que a generalização dos videogames, assim como
dos programas ditos ‘interativos’ ou de telerrealidade, visa, em última análise, menos vender
produtos do que difundir uma nova lógica do olhar.” (p. 15)
- Cecil B. De Mille x John Ford: posições estéticas, posições políticas. (p. 16)
NO INÍCIO DO TEMPO DE DEPOIS (pp. 17-21)
A desilusão com a derrocada da esquerda na Europa. Descaminhos da Revolução Chinesa e
queda do muro de Berlim. Atividade de Comolli como crítico nos Cahiers e diretor de
documentários
“Há na prática do cinema documentário uma espécie do cinema ao essencial: corpo e máquina.
É um cinema pobre, artesanal, pouco capaz de atingir o mercado ou a indústria. Nele, os efeitos
são mais simples, as mise-en-scène mais despojadas.” (p. 20)
“A ARTE DE AMAR”? (pp. 21-25)
O critério do “Amor” para escolha de quais filmes se escreverá sobre
“No tempo dos ‘multiplexes’ (que palavra horrível! que soa a farmácia, senão a psiquiatria) –, o
tempo do desprezo pelos telespectadores, classificados como consumidores –, a crítica é mais
do que nunca útil e necessária.” (p. 23)
“O cinema, já o disse muitas vezes, é antes de tudo uma história das técnicas que assumem o
lugar dos mitos.” (p. 23)
PELA CONTINUAÇÃO DO MUNDO (COM O CINEMA): Prefácio à edição
brasileira [2007] (pp. 26-31)
“o espetáculo está em todos os lugares, desde as telas grandes e pequenas até as mise-en-scènes
sociais e midiáticos” (p. 27)
“Esta é a hipótese que organiza o conjunto dos textos reunidos neste livro: enunciar, a partir da
prática documentária, alguns dos elementos de uma teoria do cinema. (...) Sabemos também
que todo filme de ‘ficção’ comporta um viés documentário: os corpos dos atores são
sempre filmados sob o regime da inscrição verdadeira.” (p. 28)
“Ao mesmo tempo, o cinema transformou o mundo – e a câmera transformou a figura humana.
A máquina-cinema inclui o mundo como o mundo inclui a máquina. O cinema documentário é a
mesa de gravação dessa reciprocidade. Tal como ele a produz, a relação cinematográfica
anula ou suspende qualquer distinção estável entre ‘dentro’ e ‘fora’, ‘verdadeiro’ e ‘falso’,
‘documentário’ e ‘ficção’, ‘objetivo’ e ‘subjetivo’: assim como o observador faz parte da
observação, o espectador faz parte do espetáculo, o corpo filmado mantém com a máquina
que o filma uma relação fantasmática – sedução, desdém, vontade de potência etc. – que se
deixa decifrar como tal. A câmera é uma ferramenta crítica.” (p. 29)
“A prática do cinema documentário, principalmente porque está em relação direta com os
corpos reais daqueles que se prestam ao jogo do filme obriga a pensar a relação desses corpos,
uma vez filmados, com os corpos dos espectadores. (...) Não se filme nem se vê impunemente.
Como filmar o outro sem dominá-lo nem reduzi-lo?” (p. 30)
PELA DISTINÇÃO ENTRE FICÇÃO E DOCUMENTÁRIO, PROVISORIA-
MENTE: INTRODUÇÃO [Ruben Caixeta, Cesar Guimarães] (pp. 32-49)
“...faz tempo que Godard provou que o cinema de ficção nasceu documentário, que Jean Rouch
elegeu Nanook, o esquimó, de Flaherty, e O homem com a câmera, de Vertov, como os
precursores do filme etnográfico (logo esses dois filmes, nada realistas!)” (p. 34)
“O cinema nasceu documentário, isto é, a ficção nasceu documentária e o documentário nasceu
ficcional. Essa fórmula, aplicável aos filmes dos irmão dos Lumière, criada desde o nascimento
do cinema, é repetida até hoje, a propósito de uma indistinção entre ficção e documentário. Até
mesmo os escritos de Comolli – o leitor verá – há sucessivas retomadas desse tema, ora para
concordar, em parte, com a indiferenciação entre os gêneros, ora para combatê-la. Para
combatê-la, sim, sobretudo quando a ficção é realizada e fruída apenas sob o emblema do
espetacular, do comércio, da diversão.” (p. 35)
Preocupações centrais de COMOLLI: “1) nada é igual àquele cinema que é projetado numa sala
escura e numa tela grande para um público que não é massivo e que está ali para pensar, ou
melhor, para, ao mesmo tempo, duvidar e crer no que vê; logo, o lugar do espectador é
fundamental para definir de que tipo de filme e cinema estamos falando; 2) a relação entre quem
filma e quem é filmado comporta duas vias principais: ao / filmar, posso acolher a mise-en-
scène do outro na minha mise-en-scène ou, então, tomá-la como objeto para o meu tratamento
fílmico, minha estética, meu roteiro, minha experimentação; o primeiro gesto é o do
documentário; o segundo, o da ficção” (pp. 37-8)
P. 39-40: ideias de Arthur Omar sobre o “antidocumentário” (provisoriamente) em oposição aos
documentários sociológicos, assim como as ideias de Comolli:
“É de uma maneira inteiramente diferente [da categoria que Bernardet descreveu como
documentário sociológico] que o real faz sua aparição na concepção de documentário
reivindicada por Comolli: inesperado, imprevisível, força própria do fora-de-campo, o real é o
que fende a cena da representação, permitindo que o mundo venha a perfurar o filme, arejá-lo
com a irrupção do impensado e do que é irredutível ao cálculo. Igualmente, se o documentário
não pode se livrar do referente (liberdade concedida apenas à ficção), que deixa, impagável, /
seu 'rastro empírico' na imagem, ele é pensado sob o modo da duração compartilhada entre
quem filma e quem é filmado.” (pp. 40-1)
[semelhança entre o real no documentário e o conceito de Punctum!]
P. 43: Crítica ao argumento de que “se tudo é discurso, então não há diferenças entre
documentário e ficção”, com uso de uma citação de I.Xavier.
P. 44: Noël CARROL: documentário como “filme de asserção pressuposta”: necessita da
compreensão, por parte do público, da intencionalidade do cineasta.
“No que concerne à criação do filme, para Comolli, quando realizamos um documentário
estamos sim no reino da invenção, mas uma invenção que tem muito mais a ver com o
experimento, o corpo, os afetos, e muito menos a ver com o intelecto, o plano, o roteiro.” (p. 47)
“...insistimos que a peculiaridade do documentário não está na forma ou na estrutura
narrativa (nesse sentido, ele de fato não é diferente da ficção), mas sim no lugar (no espaço
e no tempo) que ele reserva às falas, aos gestos e aos corpos dos outro (enfim, à mise-en-
scène do sujeito filmado), à mise-en-scène do cineasta e, enfim, ao embate entre quem
filma e quem é filmado.
Por outro lado, outra diferença entre documentário e ficção (da grande ficção, em todo caso)
reside no fato do primeiro levar em conta aquilo que sobra do mundo espetacular (seus resíduos,
restos, sua parte intratável) que escapa à roteirização da vida.” (p. 48) Segue citação de
Comolli.
PRIMEIRA PARTE:
SOBRE O DOCUMENTÁRIO, O ESPECTADOR E O ESPETÁCULO
AQUELES QUE FILMAMOS: NOTAS SOBRE A MISE-EM-SCÈNE
DOCUMENTÁRIA (pp. 52-60)
Entrevista com J-LC da qual não conhecemos as perguntas. Ele fala sobre a sua filosofia de
realizador de documentários; como a voz do “entrevistado” muda com a duração dos planos,
etc.
COMO SE LIVRAR DELE? (pp.61-80)
“Dele” = Do medo no cinema. “terei que dividar, mais à frente, da célebre fórmula
rosselliniana: ‘O mundo está aqui, porque manipulá-lo?’ Pois a pergunta deste texto também
poderia ser feita assim: ‘Se o mundo está aqui, onde está o medo? E se o mundo está aqui como
medo, não seria o caso de fazer dele um filme?’” (p. 61)
“O cinema nasce ao mesmo tempo como sistema de escrita (o campo/fora-de-campo; a
velocidade/a duração – paradigmas ativos desde ‘o primeiro filme’) e como empresa de
espetáculo (janela aberta para... tudo o que se deseja ver). Essas duas matrizes fabricam dois
pensamentos sobre o espectador – isto é, sobre o sujeito do cinema (...). A primeira é a indústria
do espetáculo, madrasta do cinema (por intermédio dos saltimbancos). / Ele postula um
espectador fixo em um lugar assinalado: o lugar do consumidor de efeitos. Esse espectador
supostamente não se mexe; ele não deve mudar, deve engolir, deve ingurgitar até a náusea. (...)
A outra é a cinematografia, filha bastarda da pintura (via fotografia), e da música (via ritmo e
duração). Ele pressupõe um espectador maior, um sujeito de relações complexas, de emoções
contraditórias, móvel, em suma, convidado a ocupar não um lugar no filme, mas vários.” (pp.
64-5)
P. 66: da “crença e medo” a apenas o medo, de Lang e Hitchcock a Spielberg, o espectador
deixa de ser “participante”.
Esse “medo” na origem do cinema: A chegada do trem na estação (1895): não era o medo de
que o trem realmente entrasse no salão, mas: “Medo diante da irrupção, na tela, do real de uma
imagem. Medo diante da violência de uma projeção na consciência daquele espectador coletivo,
pela primeira vez reunido ali.” (p. 67) Substituição do “espectador” singular pela noção plural
(coletiva) de “público”.
Esse “medo” na produção documentária: “Para o cineasta que faz documentários, o medo do
outro é o motivo central. Temos medo daqueles que filmamos, temos medo de filmá-los e, ao
mesmo tempo, de não filmá-los.” (p. 68)
O que é filmado nunca é igual ao desejado pelo realizador e pela pessoa filmada (p, 70)
"inconsciente ótico"??
“...vejo muito mais em atividade, no funcionamento cinematográfico, a força de uma
negatividade arisca. Filmar como subtrair, recortar, tirar da realidade o que entra no filme, não
fazer entrar tudo nele, fazer duvidar tanto do que entra como do que não entra – enfim, / separar,
cortar, ‘rachar o mundo’ (Deleuze) com o filme.” (p. 73-4)
P. 76-7: violência e medo no cinema burlesco (Chaplin, Keaton, Oliver & Hardy, Totò, Tati.
Menção, no final da p.77, à “montagem proibida” de BAZIN
“E para fechar a série do ‘como se livrar dele?’, poderíamos dizer que a questão do cinema é,
em última análise, se desfazer do que já está aqui: o mundo tal como se apresenta já dado,
realizado e oposto ao filme. A lógica do cinema é absolutamente delirante: ela gostaria, ela quer
que o mundo e seus gestos aconteçam unicamente no movimento do filme, na percepção do
espectador, pela graça das emoções que as tornam críveis e fortes, e tudo isso como se fosse
pela primeira vez.” (p. 79)
“Como se livrar da positividade do mundo? É a questão que praticamente só o cinema trabalha,
justamente porque ele está em concorrência com o mundo.” (p. 79)
CARTA DE MARSELHA SOBRE A AUTO-MISE-EM SCÈNE (pp. 81-85)
“O sujeito filmado, infalivelmente, identifica o olho negro e redondo da câmera como
olhar do outro materializado. Por um saber inconsciente mas certeiro, o sujeito sabe que
ser filmado significa se expor ao outro.” (p. 81)
“o cinema nada pode fazer além de nos mostrar o mundo como olhar. Olhar – que dizer,
mise-em-scène. O eu-espectador-vejo se torna o eu-vejo-que-sou-espectador. Há uma
dimensão reflexiva no olhar. Olhar. Retorno sobre si mesmo, reflexão, repetição. Revisão.
Duplo olhar.” (p. 82)
[Conceito de auto-mise-en-scène: “Noção essencial em cinematografia documentária, que
define as diversas maneiras pelas quais o processo observado se apresenta por si mesmo ao
cineasta no espaço e no tempo. Trata-se de uma mise-en-scène própria, autônoma, em virtude da
qual as pessoas filmadas mostram de maneira mais ou menos ostensiva, ou dissimulam a
outrem, seus atos e as coisas que as envolvem, ao longo de atividades corporais, materiais e
rituais. A auto-mise-en-scène é inerente a qualquer processo observado.” (CLAUDINE DE
FRANCE, Cinéma et anthopologie, 1982; apud COMOLLI, p. 330)]
“A auto-mise-en-scène seria a combinação de dois movimentos. Um vem do habitus e passa
pelo corpo (o inconsciente) do agente como representante de um ou de vários campos sociais. O
outro tem a ver com o fato de que o sujeito filmado, o sujeito em vista do filme (a ‘profilmia’ de
Souriau), se destina ao filme, conscientemente e inconscientemente, se impregna dele, se ajusta
à operação de cinematografia, nela coloca em jogo sua própria mise-en-scène, no sentido da
colocação do corpo sob o olhar, do jogo do corpo no espaço e no tempo definidos pelo olhar do
outro (a cena).” (p. 85)
“...a mise-en-scène documentária – por seu caráter lúdico, coreográfico, seu jogo com o outro,
pelo risco do real que ela corre ao se abrir para as sócio-mise-en-scène e as auto-mise-en-scènes
– seria, talvez, aquilo pelo qual o cinema, ainda, se entrelaça com o mundo.”
A OUTRA ESCUTA: PRÁTICA E TEORIA DA ENTREVISTA (pp. 86-89)
“Dois sujeitos se engajam – em relação a essa máquina – em um duelo, um face a face, uma
relação, uma conjugação mais ou menos guiada pelo desejo, mais ou menos marcada pelo medo
e pela violência. E se esses dois sujeitos não se comprometem um com o outro, a máquina capta
– cruelmente – a falta dessa relação, a nulidade desse encontro. Não se filme impunemente –
menos ainda o corpo do outro, sua palavra, sua presença.” (p. 86)
“O que talvez seja específico do procedimento do documentário é que supõe um não-controle
daquilo que o constitui: a relação com o outro. Essa posição frágil parece ir de encontro à noção
de mise-en-scène. No entanto, é essa contradição que funda nossa prática. Abordar a questão
desse outro sob o ângulo do medo que temos dele é justamente significar o seu contrário: o
desejo (de uns e do outro).” (p. 88)
ELOGIO DO CINE-MONSTRO (pp. 90-95)
“a figura da quimera seria mais adequada. O cinematógrafo nascendo como colagem divergente
de uma cabeça de Mèlies sobre um corpo de Lumière?” (p. 90)
“De Vertov, Murnau ou Flaherty até Kiarostami, passando por Welles, Rossellini e
Godard, o mais vivo da energia cinematográfica circula entre os dois polos opostos da
ficção e do documentário, para entrecruzá-los, entrelaçar seus fluxos, invertê-los, fazê-los
rebater um no / outro. Correntes contrariadas dando belos cines-monstro...” (pp. 90-1)
“A palavra ‘documentário’, que acabava de ser cunhada (1877), ainda não estava em uso
(cinematógrafo bastava), mas a natureza de fato documentária dos primeiros filmes não deve
nos enganar: é exatamente no trêmulo do sonho acordado que eles foram vistos, no pavor diante
da aparição de um simulacro artificial mais forte que a realidade aparente.” (p. 92)
“1895: menos a invenção do cinema, então, do que a do espectador como sujeito do cinema.”
(p. 93)
“Jean Rouch filma em cinema-verdade Eu, um negro, um homem real que se considera um ator
que se confunde com um personagem que se coloca em cena para se desvendar.” (p. 95)
ESTUDOS EM TOULOUSE: REPRESENTAÇÃO, MISE-EN-SCÈNE,
MEDIATIZAÇÃO (pp. 96-107)
J-LC resume suas ideias, insiste na fundação do sujeito-espectador, e não o aparato tecnológico,
como marco inicial do cinema
“Poderíamos dizer também: o mundo nos é dado por meio de narrativas. O real seria, portanto,
aquela parte do mundo que não é apreendida em nenhuma narrativa, que escapa a todas as
narrativas já formadas. Que demanda uma nova narrativa, ou desafia a narrativa. Real – o que já
está aqui sem ser apreensível e que nos apreende, a nós, sob a forma de acidente, lapso,
surpresa, gag, pane, afasia, silêncio ou grito." (p. 100)
P. 103: Impacto da aceleração do consumo que exige o fim do "sistema de representação"; perda
da “experiência”, mas não soa benjaminiano...; P. 104: mundo mais virtual, mais mediatizado.
“Os espectadores nunca estão todos juntos: estão um a um. No cinema não há 'público', mas
uma coleção de espectadores singulares, subjetivados.” (p. 105) [Não contradiz o que ele
afirmara antes – pág.67??]
LUZ FULGURANTE DE UM ASTRO MORTO (pp.108-114)
Sobre o “cinema direto” e o “ao vivo” da televisão: “A gravação leve do som sincrônico faz
surgir uma nova ligação entre fala, duração e corpos. A noção de performance entra em jogo. E
também a de tomada única. Uma cine-tauromaquia. Era sem dúvida nisso que uma parte do
sonho vertoviano de uma 'vida filmada de improviso' se cumpria, melhor do que o próprio
Vertov pôde realizar.” (p. 109)
“Hoje, os kinocs de Dziga Vertov tomaram definitivamente o poder.” (p. 109)
“A inscrição verdadeira (a câmera mais o corpo filmado) traz sempre de volta ao quadro alguma
coisa do real.” (p. 111) “A inscrição verdadeira é, antes de tudo, a inscrição do tempo.” (p. 112)
“no cinema como na televisão, o ‘direto/ao vivo’ nada mais é do que uma variante exaltada da
inscrição verdadeira.” (p. 112)
“Paradoxo do cinema: o traço inscrito é sempre passado, mas carrega sempre com ele o presente
da inscrição. Eterno presente. Por quê? Porque se trata do presente da projeção. As imagens e os
sons que ela manifesta aos meus sentidos inscrevem-se no presente de minha tela mental.
Presente absoluto da percepção. (...) /
No entanto, o aqui-e-agora da projeção reproduz o aqui-e-agora da inscrição verdadeira apenas
como engodo. Engodo essencial. Aquela ilusão que funda o cinema. O que se grava no presente
da fita fílmica e que se desenrola no presente da tela de projeção é apenas a ilusão de uma
sincronicidade.” (pp. 112-3)
NO LIPPING! (pp. 115-122)
Sobre a voz no cinema. “[no documentário] O que a gente filma, o que convém filmar, são as
situações em que as pessoas se encontram. E não o ponto de vista das pessoas filmadas sobre as
situações que elas vivem.” (p. 115)
P. 116-117: Os dois tipos de palavra no documentário: a que subjetiviza e a que organiza o
mundo.
Conclusão repleta de perguntas e hipóteses.
“O homem comum do cinema documentário - o personagem/o espectador - seria, assim, levado
à realização de si mesmo pelo jogo do filme. Isso começaria e aconteceria na relação de um
corpo e de uma palavra com a máquina cinematográfica (a inscrição verdadeira). E isso voltaria
a acontecer no reconhecimento, pelo espectador, da verdade dessa relação.” (p. 122)
COMO FILMAR O INIMIGO? (pp. 123-134)
Sobre documentários políticos do próprio Comolli, filmagens com integrantes da Frente
Nacional (partido de Le Pen)
RETROSPECTIVA DO ESPECTADOR (pp. 135-142)
“Mais espetáculo quer dizer, aqui, menos espectador (no singular). A acumulação proliferativa
dos espetáculos em um mesmo corredor espaciotemporal, tal como disposto atualmente pelos
imperativos das corporações econômicas, termina, paradoxalmente, em um enfraquecimento da
função-espectador.” (p. 136)
Reflexões sobre o “ver” no cinema em relação a outras experiências. Enquadramentos.
VIAGEM DOCUMENTÁRIA AOS REDUTORES DE CABEÇA (pp. 143-160)
Não existe oposição entre documentário no cinema e na TV (pp. 143); Retomada do argumento
de que o cinema nasceu documentário, portanto não é Flaherty, e sim os Lumière, que iniciam
essa tradição (pp. 143-4)
[Nota 5: “O vestígio cinematográfico é aquilo que subsiste e ainda se mantém após o
desaparecimento dos seres vivos que o fabricaram, mas é, ao mesmo tempo (Bazin), o que
designa esse desaparecimento e, na sua própria sobrevivência, o torna irreversível.” (p. 335)
Teatro x Cinema: “Acontece que não apenas a cena do cinema – da filmagem – é co-presença
dos corpos, dos olhares (atores, espectadores) e das máquinas de gravação, mas o que se chama
de mise-en-scène no cinema vem, em última instância, trabalhar essa presença primeira já como
ausência por vir: na tela, na verdade, tudo o que esteve presente para ser filmado só poderá ser
representado, apresentado como ausência de um presente passado.” (p. 146)
Relação entre TV e os interesses mercadológicos (espetáculo) (p. 147)
“Este será o leitmotiv deste texto: o cinema documentário extrai sua potência de sua
própria dificuldade, naquilo, precisamente, que o real não lhe permite o prazer de
esquecer, a que o mundo o pressiona, ou seja, que é se atritando com ele que esse cinema
se fabrica.” (p. 148)
[Nota 10: “Para clareza de nosso propósito, chamarei de ‘realidades’ as construções sociais que
nos englobam: econômicas, políticas, familiares etc. Escola, indústria, prisão, escritório, tudo
aquilo que se institui para nos manter ligados a uma ordem da narrativa, do programa, do
roteiro, se quisermos. Tudo é diferente em relação a esse ‘real’, com o qual a psicanálise e as
ciências esbarram e que não se deixa, de início, reduzir a um discurso, a uma narrativa, a um
saber, a um cálculo. Real como obstinação dos programas e desregulamentação das instâncias.”
(p. 336)
Documentário como jogo no sentido de um “risco” - Winnicot (p. 149)
“Vinculado ao real em uma relação de violação, o cinema documentário está vivamente ligado
ao provável de / nossas sociedades, isto é, àquilo que elas imaginam como seu possível.” (pp.
150-1) (...) “A função do documentário seria, então, expor-se incessantemente à presença
daquelas representações coletivas a que chamamos de ‘realidades’ [ver nota 10 acima].
Constituídas ao longo do tempo como narrativas ou como mises-en-scène, elas preexistem à
relação cinematográfica.” (p. 151) “Trata-se, para o cinema documentário, de construir um
estado filmável do mundo com – e às vezes contra – todos os estados narrativos do mundo
já existentes; de impor, de superpor ou de opor uma mise-en-scène cinematográfica a
outras mises-en-scène institucionais ou coletivas, inclusive familiares, que podem competir
com a sua, tanto em resistência quanto em cumplicidade.” (p. 151) “É por isso que ele é
obrigado a inventar formas de capturar o que cinematograficamente ainda não havia sido
capturado. Digamos: uma obrigação de criar. E como não há, sem nenhuma dúvida, qualquer
obra do espírito que possa verdadeiramente se contentar em reduzir o mundo ao esquema que
ela já teria pronto, que possa, até mesmo, não desejar ver esse / esquema bagunçado pela
irrupção de formas pelas quais o mundo já oferece a nós, parece-me que o documentário goza
do terrível privilégio de opor incessantemente a esse inédito do mundo formas e dispositivos
precários e frágeis cujo único fim é, além do trabalho de aproximação, serem eles mesmos
limitadores da exploração incerta do inédito. A ficção visa mais ou menos a me garantir uma
posse ou um domínio do mundo que o documentário confessa estar fora de seu alcance,
precisamente porque nesse não-controle, que é a condição da invenção, explode, como um gozo
inédito, o poder real desse mundo." (pp. 151-2)
[Pp.150-2 são importantíssimas e desenvolvem um paradoxo: o documentário como mais
‘inventivo’ do que a produção ficcional]
Sobre o insensato “direito de imagem”: “Eu creio e quero crer que há em cada um de nós
uma real complexidade que não se deixa reduzir; mas também creio que em cada imagem
de cada um de nós há / outra complexidade que também não se deixa reduzir àquilo que
julgamos verdadeiro em nós. Nossas imagens realizadas por qualquer fotógrafo,
desconhecido ou famoso, ou pela câmera, do cineasta amador ou profissional, essas
imagens nos superam e nos despossuem de nós mesmos. E tanto melhor: elas nos
identificam apenas na medida em que nos alteram; alteração por meio da qual se revela
uma alteridade de nós mesmos, o que é uma vantagem, a de entrar na circulação dos
signos, na construção de significações. Não é pouca coisa." (pp. 153-4)
“A relação que define o cinema documentário é ela mesma relativa: perde-se uma identidade
pré-fílmica de cada um, ganha-se uma alteridade, que é uma nova identidade, cinematográfica,
isto é, irreconhecível ao olhar da primeira. Filmado, eu pertenço ao filme que me fez tornar
imagem. O corpo filmado é uma transformação, uma alteração do corpo não filmado. Nós
pertencemos aos filmes que fazemos, quer o realizemos, quer nele atuemos” (p. 157)
EM NOME DE NINGUÉM (pp. 161-168)
- A criação, pelo cinema, do cine-espectador, diferente do espectador de outros tipos de
espetáculos. Anti-Jakobson (p. 161)
- Afastamento da linguagem do documentário em relação ao telejornalismo (p. 163); de novo a
questão do “direito de imagem” (p. 163-8)
SOB O RISCO DO REAL (pp. 169-178)
“As sociedades deslizam vagarosamente da época das representações – teatro das instituições,
comédias ou tragédias dos poderes, espetáculo das relações de força – para aquela das
programações: da cena ao roteiro. (...)
Diante dessa crescente roteirização das relações sociais e intersubjetivas, tal como é veiculada
(e finalmente garantida) pelo modelo ‘realista’ da telenovela, o documentário não tem outra
escolha a não ser se realizar sob o risco do real. O imperativo do 'como filmar', central no
trabalho do cineasta, coloca-se como a mais violenta necessidade: não mais como fazer o
filme, mas como fazer para que haja filme.” (p. 169)
“Os filmes documentários não são apenas ‘abertos para o mundo’: eles são atravessados,
furados, transportados pelo mundo. Eles se entregam àquilo que é mais forte, que os
ultrapassa e, concomitantemente, os funda." (p. 170)
“À pergunta ‘o que é o documentário?’ não há outra resposta senão a questão feita por André
Bazin: ‘o que é o cinema?’.” (p. 173)
“O que o aproxima do jornalismo é o fato de que ele se refere ao mundo dos acontecimentos,
dos fatos, das relações, elaborando, a partir deles ou com eles, as narrativas filmadas; e aquilo
que o separa do jornalismo é o fato de que ele não dissimula, não nega, mas ao contrário, afirma
o seu gesto, que é o de reescrever os acontecimentos, as situações, os fatos, as relações em
forma de narrativas, portanto, o de reescrever o mundo, mas do ponto de vista de um sujeito,
escritura aqui e agora, narrativa precária e fragmentária, narrativa confessa e que faz dessa
confissão seu próprio princípio.” (p. 174)
- Ausência de atores profissionais no documentário (p. 175)
“Talvez hoje não haja mais corpo possível, a não ser no cinema, e cada vez menos nas fotos, nos
teatros, nos espetáculos televisivos. E talvez não haja outro realismo no cinema além daquele
dos corpos filmados. Potências do documentário.” (p. 176) [comparar com p. 220]
“Filmar os homens reais no mundo real significa estar às voltas com a desordem das vidas, com
o indecidível dos acontecimentos do mundo, com aquilo que do real se obstina em enganar as
previsões. Impossibilidade do roteiro. Necessidade do documentário.” (p. 176)
A CIDADE FILMADA (pp. 179-185)
“Vestígios? São as vidas que passaram por aí, os corpos, as palavras, as narrativas, todo um
emaranhado de encontros tão intensivamente vividos quanto rapidamente perdidos. Filmada, a
cidade se torna texto, hipertexto, e mesmo, simultaneamente, coletânea de todas as histórias
possíveis nas cidades e léxico de todas as palavras trocadas.” (p. 180)
[Quer dizer que o documentário quer buscar o vestígio-indício [efeito-signo, RICOEUR] e,
ao filmá-lo, faz com que ele perca essa caráter transformando-o no signo, em texto, em
provedor de um determinado sentido.]
- “cumplicidade escritural entre cidade e filme”: Berlim, sinfonia de uma metrópole [1927], O
homem com a câmera [1929] etc. (p. 183)
“O cinema não vive mais uma história de amor com a cidade” (p. 185), porque ela foi tomada
pela publicidade. Assim, “não há nada mais fora-de-campo” – tudo virou signo? “O contrário
das visões dominantes do alto dos poderes. Eu diria que essa cidade invisível [Calvino?] é
aquela do cinema documentário, a cidade que se mantém reservada, na borda do quadro, que
não se entrega aos olhares, que se esquiva da tomada. Marselha, se quiserem.” (p. 185)
SUSPENSÃO DO ESPETÁCULO (pp. 186-197)
“O que esperamos do cinema documentário? Que eles nos dê a perceber, sentir e compreender
algumas coisas das realidades que nos cercam, opacas, complexas, paradoxais? Sem dúvida. Ao
mundo tornado espetáculo o cinema documentário acrescenta um modo de usar.” [Perec?] (p.
187); - Aproximação com ilusionismo (pp. 194-5)
POTÊNCIAS DO VAZIO E PLENOS PODERES (pp. 198-207)
Relação entre a demanda por ensino do cinema documentário com expansão dos reality shows
(“telerrealidade”)
Televisão como inevitavelmente autorreferencial. E o cinema? Trabalha com “corpos
(filmados)”
A PARTE DA SOMBRA (pp. 208-216)
Representação da alteridade: “Filmar o inimigo é incluí-lo, filmar o estrangeiro é fazê-lo entrar
no círculo.” (p. 208) - monstros, aliens e robôs humanizados.
“A história do cinema é inteiramente oferecida aos nossos olhares. Conheci George Sadoul, que
conheceu os irmãos Lumière. Mas nem ele, nem eles, nem pudemos conhecer algo daquele
sonho que se realizou sob o signo do cinematógrafo que não seja legendário. Projeções mentais
ou materiais nas paredes de uma caverna, sombras guiadas por mãos brincando com a
chama, imaginações, alucinações? Em tudo isso, e bem antes que a máquina o permitisse,
havia o desejo flagrante de agitar figuras impalpáveis e disponíveis, que se conformariam
às nossas fantasias e que, no final das contas, ficariam guardadas longe de nós, a uma distância
sensata, a uma distância prudente.” (p. 212) [Cf. COUTINHO, Sombras na tela.]
SOBRE projeções 360º (Imax): “Como contar sem esconder? Como / mostrar sem esconder o
que não se mostra e até usar o que é mostrado para ainda esconder? Toda narração é
dissimulação ou revelação progressiva, distribuição dos eventos no ‘ainda não’, o não
escrito, o não visível. Onde e como dissimular o que deve advir quando tudo é dado,
mostrado, iluminado? (...) Horror e pesadelo aos quais a máquina cinematográfica
felizmente escapa: por seu próprio sistema, ela não pode mostrar nada sem esconder mais
do que mostrar.” (p. 213-4)
“O cinema desloca o visível no tempo e no espaço. Ele esconde e subtrai mais do que ‘mostra’.
A conservação da parte da sombra é sua condição inicial. Sua ontologia está relacionada à noite
e ao escuro de que toda imagem tem necessidade para se constituir.” (p. 214)
DO REALISMO COMO UTOPIA (pp. 217-222)
“Seria o realismo uma necessidade para o espectador?” (p. 216)
1ª definição do realismo cinematográfico: “aquele espírito, aquele estilo, aqueles efeitos, aquele
sistema de escritura que nos garantem que o espetáculo adquire a importância da vida, que a
experiência vivida pelo espectador no espetáculo (durante a projeção de um filme, por exemplo)
não é estranha à sua experiência de vida (...). Realismo como utopia de uma impossível
aproximação entre espetáculo e vida?” (p. 218)
“Sabemos que o primeiro nível (o grau zero) do realismo cinematográfico não é senão a relação
- real, sincrônica, cênica - do corpo filmado com a máquina filmadora: chamo de 'inscrição
verdadeira' e 'cena cinematográfica' à especificidade do cinema de colocar junto, em um mesmo
espaço-tempo (a cena) um ou vários corpos (atores ou não) e um dispositivo maquínico, câmera,
som, luzes, técnicos." (p. 219)
“O realismo nasce com o sincronismo, que primitivamente não é o sincronismo entre o som e a
imagem, mas aquele entre a ação e seu registro.” (p. 219)
“Será que, hoje, só há corpos possíveis no cinema, e cada vez menos nas fotos, nos teatros, nos
espetáculos televisionados? E não haverá outro realismo no cinema que não aquele dos corpos
filmados?” [comparar com p. 176]
“Não conviria redefinir a possibilidade contemporânea de um realismo cinematográfico como a
reativação da possibilidade de uma crença no mundo que passa por um novo ganho de crença
no espetáculo exatamente porque ele é espetáculo do pós-destruição?” (p. 222)
DENEGAÇÃO (p. 222): “Sei muito bem, diz o espectador de cinema, que estou numa sala
escura e que tenho à minha frente uma tela plana, atrás de mim o facho de um projetor, e que as
imagens que vejo chegam a mim pela interferência de máquinas, que o presente da projeção é o
passado da inscrição, sei muito bem de tudo isso, mas mesmo assim eu acredito nisso, acredito
que as figuras representadas são seres reais e as emoções sentidas são aquelas da própria vida...”
(p. 340) suspensão voluntária da descrença...
Como funciona essa “descrença” para o espectador do documentário?
SEGUNDA PARTE: SOBRE FILMES E CINEASTAS
MAIS VERDADEIRO QUE O VERDADEIRO: O CINEMA DE JOHN CASSAVETES E
A ILUSÃO DA VIDA (pp. 224-229)
“inscrição verdadeira”: “única suposição de verdade possível no cinema” (p. 226)
“A despeito da suposição geral, a mise-en-scène cinematográfica não está de modo nenhum
completamente ocupada com a produção de imagens: seu trabalho principal é o da produção do
tempo. A cena é tempo – durações, acelerações, síncopes, ritmos, tempi.” (p. 227)
O HOMEM ESSENCIAL: OS PESCADPRES DE ARAN, DE ROBERT FLAHERTY
(pp. 230-235)
- Montagem acompanha, e não sucede a filmagem: “Esse lugar central da montagem, em pleno
processo de filmagem, faz de Os pescadores de Aran uma experiência limite na história do
cinema.” (p. 230) “Não tenhamos medo da palavra: ele é encenado da forma mais minuciosa.
Tanto mais porque essa encenação, eu dizia, se adapta e se presta às provas de verdade
efetuadas pela montagem.” (p. 231)
“para ele, o cinema vem primeiro, a realidade filmada se antecipa à realidade vivida. Atitude
notável. Mas estranha para aquele que é conhecido não apenas por ter fundado (...) o cinema
documentário, mas por ter sido o cineasta-profeta de uma contemplação do mundo.” (p. 231)
“Há uma diferença entre aquilo que o cineasta ou o operador de câmera vê e aquilo que é
filmado. Essa diferença tem nome: cinema.” (p. 233)
O FUTURO DO HOMEM? EM TORNO DE O HOMEM COM A CÂMERA, DE DZIGA
VERTOV (pp. 236-259)
“Vertov queria separar o cinema do teatro. (Noto, de passagem, que talvez porque demasiadas
musas - fotografia, teatro, pintura, música, dança - se debruçaram sobre o berço do cinema, o
gesto cinematográfico começa frequentemente por romper com uma ou mais dessas
influências.)” (p. 239)
“Nenhuma mise-en-scène jamais abolirá o acaso ligado à inscrição verdadeira.” (p. 240)
[studium x punctum; inconsciente ótico]
“Nesse belo nome, mise-en-scène, que se manteve contra ‘realização’, leio a reivindicação de
uma alteridade e de uma estranheza no cinema: mise-en-scène diz, ao mesmo tempo, da
colocação em dúvida do mundo e de sua mise-en-abyme como cena. A representação de
transforma no ‘mundo’ no qual se inscreve a representação, o mundo-como-espetáculo
incluindo o espetáculo do mundo. Filmar – saibamos ou não, queiramos ou não – é sempre
colocar em cena." (p. 246)
“A experiência é o que o cinema (documentário) filma em primeiríssimo lugar. Assim como se
inscreveu e se reuniu nos corpos, nos olhares, nos gestos. Beleza do documentário. Na
experiência daqueles que filmamos. O que é a presença ou a fotogenia? A absoluta
disponibilidade da máquina cinematográfica para registrar a experiência dos corpos reais, para
fazer dessa experiência a força dos corpos filmados; e, concomitantemente, a absoluta
resistência dos corpos reais a se deixarem despossuir de si mesmos por uma máquina. Não
haverá, então, documentário virtual ou sintético.” (p. 258)
O COPIÃO DE TERRA SEM PÃO EM VALENCIA (pp. 260-262)
- Sobras de filmagens do documentário de Buñuel e sua relação com o filme efetivamente
montado. O que revela sobre as escolhas do cineasta. Mostra que o documentário é também
“posto em cena”. Como assistir a essa cópia muda revela a importância da locução “glacial” do
filme
ÊXTASE, SAÍDA DE CENA: SOBRE PARTIE DE CAMPAGNE, DE JEAN RENOIR (pp.
263-268)
====
AQUELES QUE (SE) PERDEM (pp. 269-282)
P. 270: outra alusão (indireta) à suspensão da descrença. Sempre que fala disso, J-L.C. não se
refere ao documentário em particular, mas ao cinema em geral.
P. 272: diferença entre ficção e documentário: “Mais carregado do peso do mundo que a ficção,
o cinema documentário está, de fato, saturado pela cintilação das ‘informações’, chumbado
pelas referências à ‘realidade’, às demandas da ‘verdade’, expedidas por todas as partes, ao
magistério bufão dos experts, às pretensões crescentes dos clérigos das mídias. Em resumo, ele
está saturado desde o início por essas questões que a ficção não deixa de adiar, deixando-as para
a saída. (...) O pacto firmado com o espectador é claramente inverso ao da ficção. Eu sei
que você sabe que o filme que você vai ver vem do mundo e volta para lá, que ele é de
certa maneira duplamente garantido, antes e depois, pela própria realidade que pretende
representar, que ele continua responsável por ela pelo que dela ele faz, que ele parece
assim não se destacar do mundo, não colocá-lo em suspenso. (...) É-lhe interditado tudo o
que seria ‘manipulação’ ou ‘mise-en-scène’.” (p. 272)
[Nota 3: “Essa é precisamente a razão pela qual sou obstinado em assinar meus filmes
documentários como metteur-en-scène.” (p. 344)] [Pesquisar diferença entre mise x metteur]
P. 273: documentário x jornalismo
“o caminho do espectador em um filme documentário é o inverso daquele da ficção: trata-se,
para ele, de duvidar de tudo o que parece estabelecido, de perceber a representação como
uma realidade que se sobrepõe à realidade de referência para rivalizar com ela,
transformá-la,, miná-la ou colocá-la em dúvida. Partir do engodo (identidade ou
conformidade da representação com a coisa representada) para ir em direção ao questionamento
do engodo.” (p. 274)
P. 274-278: exemplo do filme Un vivant qui passe (Claude Lanzmann), que entrevista um
delegado da Cruz Vermelha que "não viu" os horrores da Shoah em missão em Auschwitz e
Theresienstadt em 1943 e 44; p. 278-: 2º exemplo: Republica, journal du peuple (Ginette
Lavigne) - jornal dos socialistas portugueses na época da Revolução dos Cravos.
“Talvez o princípio de realidade de que falei antes explique isto: quando o documentário retoma
a História, os registros (e notadamente os vestígios filmados) são mais frequentemente os dos
vencedores que os dos vencidos.” (p. 279-281) [cf. BERNARDET, cf. BENJAMIN]
- docu-soaps (p. 281)
O ANTIESPECTADOR: SOBRE QUATRO FILMES MUTANTES (pp. 283-313)
I. BERLIN 10/90, DE ROBERT KRAMER [1991] (pp. 283-290)
“De alguns anos para cá, o cinema documentário tem colocado em cena o corpo (e, às vezes, a
intimidade) daquela ou daquele que filma. O cineasta aparece, entra em cena, vem ao centro da
arena. (...)
Ficção declarada ou não, esse gesto ganha uma inegável dimensão documentária, e é por isso
que me parece mais interessante considerar sus efeitos do ponto de vista do espectador mais do
que do cineasta.” (p. 283)
“o cinema documentário se distingue pelo caráter indissolúvel da ligação que realiza entre
identidade e subjetividade, entre corpo, fala, personagem consciente e inconsciente, ritmo,
energia, cansaço..., tornando perceptíveis essas / articulações, fazendo do homem filmado
um novo objeto de conhecimento.” (pp. 283-4)
BERLIN 10/90: “um plano sequência de uma hora rodado pelo próprio cineasta com uma
câmera amadora de vídeo. Nem cortes nem montagem.” (p. 285)
Plano sequência de Kramer: oposto dos programas de “telerrealidade”, longe do simulacro
(p.290)
II. LA NUIT DU COUP D’ÉTAT, DE GINETTE LAVIGNE [2001] (pp. 291-295)
Tomada de consciência do protagonista Otelo, combatente na guerra de Angola/Moçambique e
capitão na Revolução dos Cravos. Evocação, mas não reconstituição.
III. CLOSE-UP, DE ABBAS KIAROSTAMI [1990] (pp. 296-300)
“Um jovem desempregado de Teerã se faz passar por um cineasta conhecido (...), engana uma
família inteira, é preso e, finalmente, perdoado por suas vítimas. Kiarostami encontra esse
rapaz, que aceita ser ator de seu próprio papel. O impostor interpreta o impostor, e já não
estamos mais no terreno da impostura.” (p. 296)
IV. NO QUARTO DE VANDA, DE PEDRO COSTA [(pp. 300-306)
POST-SCRIPTUM: NO QUARTO DE MOEBIUS (pp. 307-313): Notas adicionais sobre No
quarto de Vanda
- “inscrição verdadeira” como “registro da partilha de uma duração por um corpo e uma
máquina” (p. 309)
- Sobre Sebastião Salgado: “caímos no embelezamento publicitário da miséria: o fotógrafo dos
famintos do mundo os enquadra, se posso dizê-lo com todas as letras, em uma plenitude de
representação que só pode desapossá-los de seu próprio desnudamento – o infravisível tornado
hipersensível.” (p. 312)
O DESAPARECIMENTO: DISNEYLAND, MON VIEUX PAYS NATAL, DE ARNAUD
DE PALLIÈRES (pp. 314-320)
====
Você também pode gostar
- Bernardet 80: Impacto e Influência no Cinema BrasileiroNo EverandBernardet 80: Impacto e Influência no Cinema BrasileiroNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Um certo cinema paulista: Entre o Cinema Novo e a indústria cultural (1958-1981)No EverandUm certo cinema paulista: Entre o Cinema Novo e a indústria cultural (1958-1981)Ainda não há avaliações
- Ebook - Cineclubismo e Educação PDFDocumento15 páginasEbook - Cineclubismo e Educação PDFSimone CarvalhoAinda não há avaliações
- COSTA, Iná Camargo - Dialética Do Marxismo CulturalDocumento23 páginasCOSTA, Iná Camargo - Dialética Do Marxismo CulturalNatássia Vello100% (1)
- A Crítica de Cinema Entre o Realismo e A Ideologia: Bazin, Kracauer, AdornoDocumento7 páginasA Crítica de Cinema Entre o Realismo e A Ideologia: Bazin, Kracauer, Adornorodcassio@hotmail.com100% (1)
- Jean Claude BernardetDocumento2 páginasJean Claude BernardetFlavio BarolloAinda não há avaliações
- Resenha - Magia e Capitalismo - ROCHA - Página 07 À 73 - Marcelo LemosDocumento4 páginasResenha - Magia e Capitalismo - ROCHA - Página 07 À 73 - Marcelo LemosmarceloblemosAinda não há avaliações
- Cineclube - Enciclopédia Itaú CulturalDocumento2 páginasCineclube - Enciclopédia Itaú CulturalCatia SantosAinda não há avaliações
- RECONHECER A IMAGEM, PERSEGUIR A HISTÓRIA - Crítica Da Visibilidade Técnica No Cinema de Harun FarockiDocumento18 páginasRECONHECER A IMAGEM, PERSEGUIR A HISTÓRIA - Crítica Da Visibilidade Técnica No Cinema de Harun FarockiSOSLAIOS é cada olhada100% (1)
- Cineastas e Imagens Do Povo - Jean Claude BernardetDocumento159 páginasCineastas e Imagens Do Povo - Jean Claude Bernardetleandro.pinrodriguesAinda não há avaliações
- Cultura e Cidade Teixeira Coelho PDFDocumento192 páginasCultura e Cidade Teixeira Coelho PDFDébora CotaAinda não há avaliações
- A Internacionalização Das Comunidades Lusófonas e Ibero-Americanas PDFDocumento354 páginasA Internacionalização Das Comunidades Lusófonas e Ibero-Americanas PDFLAGO, FilipeAinda não há avaliações
- Versões de CulturaDocumento12 páginasVersões de CulturaMarcelo VelameAinda não há avaliações
- Jornalismo de Cinema - A Independência Da Cobertura Jornalística Com Foco No Cinema em Relação À Esfera de Abrangência Do Dito Jornalismo CulturalDocumento176 páginasJornalismo de Cinema - A Independência Da Cobertura Jornalística Com Foco No Cinema em Relação À Esfera de Abrangência Do Dito Jornalismo CulturalHanrrikson De AndradeAinda não há avaliações
- A Imaginação Da CatástrofeDocumento3 páginasA Imaginação Da CatástrofeGiyukichanAinda não há avaliações
- Formatos de Ficção Seriada Televisual - Tradições e Perspectivas PDFDocumento15 páginasFormatos de Ficção Seriada Televisual - Tradições e Perspectivas PDFdeboraAinda não há avaliações
- A Inovacao No Seriado (Umberto Eco)Documento10 páginasA Inovacao No Seriado (Umberto Eco)Daniela CostaAinda não há avaliações
- Artigo Científico - As Crônicas de NárniaDocumento10 páginasArtigo Científico - As Crônicas de NárniaClaudia Maris TullioAinda não há avaliações
- Projeto Cinema Doutorado 1Documento11 páginasProjeto Cinema Doutorado 1Diego TavaresAinda não há avaliações
- Resumo Teorias LinguísticasDocumento3 páginasResumo Teorias LinguísticasKarla ThamiresAinda não há avaliações
- Slow Cinema: a memória e o fascínio pelo tempo no documentário contemporâneoNo EverandSlow Cinema: a memória e o fascínio pelo tempo no documentário contemporâneoAinda não há avaliações
- AUTRAN, Arthur. A Noção de Ciclo Regional Na Hist. Cin. Bras.Documento10 páginasAUTRAN, Arthur. A Noção de Ciclo Regional Na Hist. Cin. Bras.Yuichi InumaruAinda não há avaliações
- Arroz Feijao e Sangue: o Telejornal Policial No Cardápio de Almoço Dos Brasileiros.Documento16 páginasArroz Feijao e Sangue: o Telejornal Policial No Cardápio de Almoço Dos Brasileiros.pmaia_27Ainda não há avaliações
- Arthur Omar e o Efeito-Cinema Na Arte ContemporâneaDocumento123 páginasArthur Omar e o Efeito-Cinema Na Arte ContemporâneaLucas MurariAinda não há avaliações
- 2 Fichamento Schaff - Aula Dia 31.03Documento23 páginas2 Fichamento Schaff - Aula Dia 31.03Sandra Barros Alves MeloAinda não há avaliações
- Resumo - O Poder Da ImagemDocumento4 páginasResumo - O Poder Da ImagemVinicius SouzaAinda não há avaliações
- Apocalipse Motorizado A Tirania Do Automovel em Um Planeta Poluido 1Documento158 páginasApocalipse Motorizado A Tirania Do Automovel em Um Planeta Poluido 1biebarbosaAinda não há avaliações
- O Desvio Pela Ficção: Contaminações No Cinema Brasileiro ContemporâneoDocumento20 páginasO Desvio Pela Ficção: Contaminações No Cinema Brasileiro ContemporâneoAnna AzevedoAinda não há avaliações
- Fichamento - Panorama Do Cinema Brasileiro (Paulo Emílio Salles)Documento2 páginasFichamento - Panorama Do Cinema Brasileiro (Paulo Emílio Salles)Tatiana100% (2)
- Como Realizar Uma Análise Fílmica - Revista MoviementDocumento14 páginasComo Realizar Uma Análise Fílmica - Revista MoviementRoberto Blatt100% (1)
- Por Um Cinema Pós-Industrial Cezar MigliorinDocumento7 páginasPor Um Cinema Pós-Industrial Cezar Migliorinlimasilv76Ainda não há avaliações
- O Cinema e As Ditaduras Militares ContexDocumento14 páginasO Cinema e As Ditaduras Militares ContexinararosasAinda não há avaliações
- Manual Completo de CineclubeDocumento138 páginasManual Completo de CineclubeVictor Coelho100% (1)
- Thiago Altafini-Cinema Documentario Brasileiro-Evolucao Historica Da LinguagemDocumento43 páginasThiago Altafini-Cinema Documentario Brasileiro-Evolucao Historica Da Linguagemdavid willianAinda não há avaliações
- 20110909-Tradicao ReflexoesDocumento365 páginas20110909-Tradicao ReflexoesZoueinAinda não há avaliações
- Os Lugares Dos Cinemas No Subúrbio Carioca Da Leopoldina: Falências, Usos e Destinos Da Sala de ExibiçãoDocumento17 páginasOs Lugares Dos Cinemas No Subúrbio Carioca Da Leopoldina: Falências, Usos e Destinos Da Sala de ExibiçãoTalitha FerrazAinda não há avaliações
- Leticia Renault WebtelejornalismoDocumento26 páginasLeticia Renault WebtelejornalismoWillian SousaAinda não há avaliações
- Caderno de Crítica 17 - Especial Afranio VitalDocumento21 páginasCaderno de Crítica 17 - Especial Afranio VitalJuliano GomesAinda não há avaliações
- Veredas de Brasília PDFDocumento197 páginasVeredas de Brasília PDFBastetAinda não há avaliações
- AV2. Teorias Da Comunicação.2018. Segundo Semestre PDFDocumento3 páginasAV2. Teorias Da Comunicação.2018. Segundo Semestre PDFSílvio CarvalhoAinda não há avaliações
- Xingu-Cariri-Caruaru-Carioca: Quando Filme e Mundo São Um SóDocumento14 páginasXingu-Cariri-Caruaru-Carioca: Quando Filme e Mundo São Um SóNicholas de AnduezaAinda não há avaliações
- O Estilo Televisivo e Sua Pertinência para A TV Como Prática CulturalDocumento18 páginasO Estilo Televisivo e Sua Pertinência para A TV Como Prática CulturalAlex VilaçaAinda não há avaliações
- Narrativas Indígenas - A Chegada Dos Brancos - Narrativa KrenakDocumento5 páginasNarrativas Indígenas - A Chegada Dos Brancos - Narrativa KrenakLuísa PontesAinda não há avaliações
- VIZEU, Alfredo. Decidindo o Que É Notícia. Os Bastidores Do TelejornalismoDocumento152 páginasVIZEU, Alfredo. Decidindo o Que É Notícia. Os Bastidores Do TelejornalismoVinicius Carlos da SilvaAinda não há avaliações
- Miradas Sobre o Cinema Ibero Latino-Americano ContemporneoDocumento172 páginasMiradas Sobre o Cinema Ibero Latino-Americano ContemporneoGMGAinda não há avaliações
- A Construção Do Discurso Paródico Na PornochanchadaDocumento269 páginasA Construção Do Discurso Paródico Na PornochanchadaVyctor NegreirosAinda não há avaliações
- Resenha Ginzburg Medo Reverência e TerrorDocumento5 páginasResenha Ginzburg Medo Reverência e TerrorSamuel Mendes VieiraAinda não há avaliações
- Telenovelas e Brasil Esther HamburgerDocumento16 páginasTelenovelas e Brasil Esther HamburgerMilton BatistaAinda não há avaliações
- Políticas Culturais para o Audiovisual No Brasil: Notas Sobre Os Governos Lula e DilmaDocumento16 páginasPolíticas Culturais para o Audiovisual No Brasil: Notas Sobre Os Governos Lula e DilmaRenata RochaAinda não há avaliações
- HC321 Cultura Comunicação e Sociedade Miriam 2015 - 1°Documento2 páginasHC321 Cultura Comunicação e Sociedade Miriam 2015 - 1°Iago MouraAinda não há avaliações
- (2008) Violência e CinemaDocumento14 páginas(2008) Violência e CinemathalesleloAinda não há avaliações
- Dossie Filme de Arquivo - Doc13Documento319 páginasDossie Filme de Arquivo - Doc13Isabel ÁvilaAinda não há avaliações
- Golpe de vista: Cinema e ditadura militar na América do SulNo EverandGolpe de vista: Cinema e ditadura militar na América do SulAinda não há avaliações
- Mimoso: Comunidade tradicional do Pantanal Mato-Grossense - Diversidade de SaberesNo EverandMimoso: Comunidade tradicional do Pantanal Mato-Grossense - Diversidade de SaberesAinda não há avaliações
- O cinema entre a repressão, a alegoria e o diálogo: 1970-1971No EverandO cinema entre a repressão, a alegoria e o diálogo: 1970-1971Ainda não há avaliações
- Fichamento SELIGMANN-SILVA, M (Org) - Hist - Mem.LitDocumento6 páginasFichamento SELIGMANN-SILVA, M (Org) - Hist - Mem.LitDaniel MoutinhoAinda não há avaliações
- Sessões de Comunicação Do I Congresso Do PPGLEVDocumento52 páginasSessões de Comunicação Do I Congresso Do PPGLEVDaniel MoutinhoAinda não há avaliações
- Artigo Mulheres Cinema (Sem Nome)Documento18 páginasArtigo Mulheres Cinema (Sem Nome)Daniel MoutinhoAinda não há avaliações
- Questões Romantismo - NarrativaDocumento5 páginasQuestões Romantismo - NarrativaDaniel MoutinhoAinda não há avaliações
- Questões Realismo-Naturalismo - NarrativaDocumento9 páginasQuestões Realismo-Naturalismo - NarrativaDaniel MoutinhoAinda não há avaliações
- Questões Modernismo - NarrativaDocumento6 páginasQuestões Modernismo - NarrativaDaniel MoutinhoAinda não há avaliações
- Questões Pré-Modernismo - NarrativaDocumento4 páginasQuestões Pré-Modernismo - NarrativaDaniel MoutinhoAinda não há avaliações
- A Foto É Literalmente Uma Emanação Do ReferenteDocumento2 páginasA Foto É Literalmente Uma Emanação Do ReferenteDaniel MoutinhoAinda não há avaliações
- EducaçãoDocumento23 páginasEducaçãoPâmela PerossoAinda não há avaliações
- Hermetismo V O H Jose Laercio Do Egito PDFDocumento1 páginaHermetismo V O H Jose Laercio Do Egito PDFHelio Marcellus Honorio CarlosAinda não há avaliações
- Sartre e L'étrangerDocumento8 páginasSartre e L'étrangerArqueline d'AffonsêcaAinda não há avaliações
- Apostila Espiritismo Na ArteDocumento22 páginasApostila Espiritismo Na ArteLúcio BrandãoAinda não há avaliações
- Universidade UnirgDocumento3 páginasUniversidade UnirgDebora Aparecida Gomes de SousaAinda não há avaliações
- A Relacao Terapêutica Na Fenomenologia-Existencial - GiovanettiDocumento14 páginasA Relacao Terapêutica Na Fenomenologia-Existencial - Giovanettixp5qbbcbhjAinda não há avaliações
- Abordagem Comportamental de MotivaçãoDocumento16 páginasAbordagem Comportamental de MotivaçãoGUILHERME LIMAAinda não há avaliações
- Apostila Do Intensivão I (TRT-11 + Resolução de Provas Anteriores Da Fundação Carlos Chagas) - (Curso Presencial - Novembro de 2023 - Domingo) - Professor PedrosaDocumento42 páginasApostila Do Intensivão I (TRT-11 + Resolução de Provas Anteriores Da Fundação Carlos Chagas) - (Curso Presencial - Novembro de 2023 - Domingo) - Professor PedrosadavialveAinda não há avaliações
- Aula 2.1Documento13 páginasAula 2.1Matheus GabrielAinda não há avaliações
- Aula 7 - Problematização Do Tema Na Redação Do EnemDocumento2 páginasAula 7 - Problematização Do Tema Na Redação Do EnemRafael MotaAinda não há avaliações
- Retórica Clássica e Direitos HumanosDocumento27 páginasRetórica Clássica e Direitos HumanoslourenconetoAinda não há avaliações
- @ligaliteraria Maycon - Livro 2 - Meu Vicio - Kell TeixeiraDocumento288 páginas@ligaliteraria Maycon - Livro 2 - Meu Vicio - Kell TeixeiraAna Beatriz OliveiraAinda não há avaliações
- Traços Homogêneos e HeterogêneosDocumento10 páginasTraços Homogêneos e Heterogêneosservilio Vieira brancoAinda não há avaliações
- Course Status - Faculdade Serra Geral - AVALIAÇÃO - PESQUISA EDUCACIONAL E TRANSDISCIPLINARIDADEDocumento2 páginasCourse Status - Faculdade Serra Geral - AVALIAÇÃO - PESQUISA EDUCACIONAL E TRANSDISCIPLINARIDADEErick GomesAinda não há avaliações
- TraumaDocumento344 páginasTraumaVictória Chirity100% (2)
- Jornada Das 13 Matriarcas e A Cura Do Feminino - Rose Kareemi PonceDocumento29 páginasJornada Das 13 Matriarcas e A Cura Do Feminino - Rose Kareemi PonceMarina JunqueiraAinda não há avaliações
- Livros Jub SINOPSE Blood and Ash, Jennifer L. Armentrout (Série) 3Documento1 páginaLivros Jub SINOPSE Blood and Ash, Jennifer L. Armentrout (Série) 3rayannesouza7193Ainda não há avaliações
- IntroduçãoDocumento17 páginasIntroduçãoMichel CAM123Ainda não há avaliações
- TRABALHO de EDPDocumento13 páginasTRABALHO de EDPEsteves SaguateAinda não há avaliações
- Orações Coordenadas e Subordinadas - ExercíciosDocumento7 páginasOrações Coordenadas e Subordinadas - ExercíciosLauro ReisAinda não há avaliações
- A Verdade de Um Desencarne - Espírito Nydia - Médium Terezinha DuvalDocumento88 páginasA Verdade de Um Desencarne - Espírito Nydia - Médium Terezinha DuvalMilton Cezar RosaAinda não há avaliações
- A Arte de Falar em Público: Dale Carnagey (Também Conhecido Como Dale Carnegie) e J. Berg EsenweinDocumento299 páginasA Arte de Falar em Público: Dale Carnagey (Também Conhecido Como Dale Carnegie) e J. Berg EsenweinFabricio Dias PaesAinda não há avaliações
- Manual Metodologias 5SDocumento28 páginasManual Metodologias 5SmarioguerreiroAinda não há avaliações
- O Traído ImaginárioDocumento28 páginasO Traído ImaginárioAmandha de Souza CamposAinda não há avaliações
- Loteria Ortográfica - Lição PráticaDocumento2 páginasLoteria Ortográfica - Lição PráticaCintia OliveiraAinda não há avaliações
- Master Maria Pulido GarciaDocumento120 páginasMaster Maria Pulido Garciaricardo monizAinda não há avaliações
- Roteiro Curso Estilo de LiderançaDocumento19 páginasRoteiro Curso Estilo de LiderançaViviane MeloAinda não há avaliações
- Trabalho - Súplica de Zé PelintraDocumento2 páginasTrabalho - Súplica de Zé Pelintragorgon2100% (2)
- Henry Thomas Buckle Nasceu em 1821Documento3 páginasHenry Thomas Buckle Nasceu em 1821Raul TeixeiraAinda não há avaliações
- SAP PPOCE - Como Criar Uma Unidade OrganizacionalDocumento8 páginasSAP PPOCE - Como Criar Uma Unidade OrganizacionalfraguimentadoAinda não há avaliações