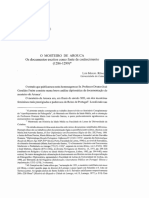Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cultura e Poder No Post Mortem Um Estudo
Cultura e Poder No Post Mortem Um Estudo
Enviado por
Talita RiosDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cultura e Poder No Post Mortem Um Estudo
Cultura e Poder No Post Mortem Um Estudo
Enviado por
Talita RiosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cultura e poder no post-mortem: um estudo
de Arqueologia Histórica dos cemitérios Santa
Isabel (SE) e Recoleta (AR)
Janaina Cardoso Mello1
Rafael Santa Rosa Cerqueira2
Resumo: A pesquisa apresentada nesse artigo elegeu os cemitérios Santa Isabel, fundado
em 1865, em Aracaju (SE) e da Recoleta em Buenos Aires (AR), inaugurado em 1822,
como objetos de estudo comparativo da Arqueologia e da História enquanto áreas inter-
disciplinares de reflexão. Uma análise simbólica da arte tumular fotografada entre 2011 e
2012 nos dois cemitérios, acompanha a coleta de dados quantitativos sobre os sepulcros
e as notas de falecimento em jornais. Assim, através de leituras de Dethlefsen, Chartier,
Lima, Pesavento, Ribeiro, Rodrigues, Schávelzon, e Magaz dentre outros, busca-se com-
preender o espaço cemiterial como um ambiente carregado de símbolos que representam
a morte e revelam como a necrópole de sociedades em constante mudança serviu para
reproduzir a estratificação social do mundo dos vivos.
Palavras-chave: Cemitério. Arte tumular. Símbolos. Poder. Cultura.
Abstract: The research presented in this article chose the Santa Isabel cemetery, founded
in 1865, in Aracaju (SE) and Recoleta in Buenos Aires (AR), opened in 1822, as objects of
comparative study of Archeology and history while interdisciplinary areas of reflection. A
symbolic analysis of the funerary art photographed between 2011 and 2012 in two ceme-
teries, accompanies the collection of quantitative data on the graves and the death notes
in newspapers. Thus, through readings of Dethlefsen, Chartier, Lima, Pesavento, Raja,
Rana, Schávelzon, and Magaz among others, seek to understand the cemiterial space as an
environment loaded with symbols that represent death and reveal how the necropolis of
changing societies served to make the social stratification of the world of the living.
Keywords: Cemetery. Funerary art. Symbols. Power. Culture.
1
Profa. Adjunta do Departamento de Museologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e colaboradora/pesqui-
sadora do Departamento de História (UFS); líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Memória e Patrimônio Sergi-
pano (GEMPS/CNPq); Pesquisadora FAPITEC-SE; Professora nos Mestrados em Arqueologia (PROARQ), História
(PROHIS) UFS e em História (PPGH) da Universidade Federal de Alagoas.
2
Mestrando em História pela Universidade Federal de Alagoas (PPGH-UFAL).
Cad. Pesq. Cdhis, Uberlândia, v.26, n.1, jan./jun. 2013 115
A pesquisa das lápides por Edwin carioca (São João Batista, São Francis-
Dethelefsen e James Deetz junto com a co Xavier, Ordem Terceira dos Míni-
arte tumular revelou grande valia para mos de São Francisco de Paula, Ordem
a compreensão da cultura material nos de Nossa Senhora do Carmo e Ordem
cemitérios norte-americanos do sé- de São Francisco).5 Marily Simões Ri-
culo XVIII, trazendo uma riqueza de beiro, reforçando as práticas mortuá-
informações sobre o padrão cultural e rias como campo de estudo da Arque-
suas mudanças. Segundo Dethelefsen ologia, afirmou:
e Deetz: “The distinctive symbols em-
ployed as decorative elements are in a Arqueologia estuda os remanescen-
part a function of religion, and there- tes das práticas que envolveram a mor-
te, o funeral, os restos materiais dos
fore changes in this aspect of culture
atos que foram praticados no destino
can be investigated as they relate to
escolhido pelo corpo, os vestígios das
other areas of change.”3
opções da sociedade e da família do
Em 1967, Dethelefsen e Deetz
morto para sua memória, a simbologia
realizaram um estudo demográfico que deu lógica às práticas mortuárias.6
das lápides do período setecentista,
afirmando: “Fortunately the historic Já Eduardo Rezende focou “o uso
archaeologist can often make use of sócio-espacial do cemitério”7, optan-
non-archaeological data, and we are do “pela abordagem histórica de longa
fortunate in having vital records avail-
duração (do século XVI ao começo do
able to supplement the data of many
século XXI) não apenas para notar a
Colonial cemeteries”4 e ressaltando a
superação da forma dos cemitérios,
interdisciplinaridade da Arqueologia
mas para verificar a presença atual
histórica.
de cemitérios na metrópole de várias
No Brasil, Tania Andrade Lima
temporalidades.”8 Destaca-se a visão
(1994) analisou 5 cemitérios da capital
espacial, ou seja, como os cemitérios in-
3
“Os símbolos distintivos utilizados como teragem com o seu entorno (sociedade).
elementos decorativos são em parte uma função
da religião, e, portanto, mudanças neste aspecto
da cultura podem ser investigadas como elas se
relacionam com as outras áreas de mudança” 5
LIMA, Tania Andrade. De morcegos e caveiras
(tradução livre). In: DETHLEFSEN, Edwin; a cruzes e livros: a representação da morte nos
DEETZ, James. Death’s heads, cherubs and cemitérios cariocas do século XIX (estudo de
willow trees: experimental archaeology in identidade e mobilidade sociais). Anais do Mu-
colonial cemeteries. American antiquity, 1996, seu Paulista. São Paulo. N. Ser. Vol.2 p. 87-150,
31:4, p. 502. jan./dez. 1994.
4
“Felizmente o arqueólogo histórico muitas ve- 6
RIBEIRO, Marily Simões. Arqueologia das prá-
zes pode fazer uso de dados não-arqueológicos, ticas mortuárias: uma abordagem historiográ-
e temos a sorte de ter registros vitais disponíveis fica. São Paulo: Alameda, 2007, p. 19.
para complementar os dados de muitos cemi- 7
REZENDE, Eduardo Coelho Morgado. O céu
térios coloniais” (tradução livre) In: DETHLE- aberto na terra; uma leitura dos cemitérios
FSEN, Edwin; DEETZ, James. Eighteenth cen- de São Paulo na geografia urbana. São Paulo:
tury cemeteries: a demographic view. Historical E.C.M.Rezende, 2006, p. 11.
Archaeology. Vol I, 1967, p. 41. 8
Id, Ibid, p. 12.
116 Cad. Pesq. Cdhis, Uberlândia, v.26, n.1, jan./jun. 2013
Em Cemitérios, espécie de manual ginário coletivo da morte em Aracaju e
para os estudiosos do campo, Eduardo em Buenos Aires, influenciou a estrati-
Morgado Rezende salienta: “esse texto ficação social desses locais; (b) classi-
não tem a intenção de esgotar o assun- ficar os diferentes tipos de sepulturas
to, ele é um pequeno guia para aqueles através do tipo de material empregado,
que não sabiam como entrar nos estu- arte tumular utilizada, estilo arquitetô-
dos cemiteriais, o fiz para atender aos nico e localização; (c) descrever os dife-
inúmeros pedidos de informações, bi- rentes símbolos dos jazigos para repre-
bliografia e temas ligados a cemitério.” 9
sentar a morte.
E ao adentrar a questão da estrati-
ficação social da morte, Bellomo (2000) Cemitério Santa Isabel: do
chama atenção também dos historiado- combate aos miasmas à ostentação
res para o fato de que: da opulência sergipana
ao longo tempo as sociedades humanas Fundado em 25 de fevereiro de
estão em constante transformação e os
1862, o cemitério Santa Isabel, na Praça
cemitérios constituem-se vestígios a
Princesa Isabel, bairro Santo Antonio,
céu aberto que propiciam aos historia-
dores interpretações históricas dessas Aracaju/SE (fig.1), tinha por objetivo
sociedades. São fontes escritas e não extinguir os enterramentos no interior
escritas para a reconstrução do passa- e ao redor das igrejas, livrando a popu-
do, pois viabilizam a compreensão das lação do convívio diário com os mortos
relações sociais que se desenvolvem
e os gases pútridos – supostos cau-
continuamente dentro de determinado
sadores de miasmas11 - exalados com
grupo social.10
frequência pelas fendas dos túmulos.
Configura-se como o mais antigo em
Inspirada nesses estudos, a pes-
atividade e de sua criação até fevereiro
quisa aqui delineada elegeu os cemité-
de 2003 o cemitério Santa Isabel ocu-
rios Santa Isabel, em Aracaju (SE) e da
pou o status de sepulcrário mais impor-
Recoleta, em Buenos Aires (AR) como
tante da capital sergipana. Nele foram
objetos de estudo comparativo sob as
sepultados empresários, médicos, polí-
lupas da Arqueologia e da História en-
ticos, bacharéis em direito entre outras
quanto áreas interdisciplinares de re-
esferas opulentas da sociedade sergipa-
flexão cognitiva.
na.
Desse modo, a pesquisa objetivou:
(a) compreender, a partir do espaço se-
pulcral de dois cemitérios, como o ima-
9
REZENDE, Eduardo Coelho Morgado. Cemité-
rios. São Paulo: Editora Necropólis, 2007, p. 10. 11
“Exalação pútrida que emana de animais ou
10
BELLOMO, Harry (org). Cemitérios do Rio vegetais em decomposição”, segundo o di-
Grande do Sul: arte, sociedade, ideologia. Porto cionário eletrônico Houaiss da Língua Portu-
Alegre: EDIPUCRS, 2000, p. 15. guesa 2.0.
Cad. Pesq. Cdhis, Uberlândia, v.26, n.1, jan./jun. 2013 117
Fig. 1: Vista aérea do cemitério Santa Isabel, Aracaju – SE
Fonte: Google Earth (disponível em: 29-01-2010).
Esse campo-santo foi erigido atra- uso por toda a sociedade aracajuana, na
vés das doações do Imperador D. Pedro segunda metade dos oitocentos.
II (1 conto de réis) e do Presidente da Em Sergipe, o período republicano
Província, Joaquim Jacintho de Men- marca a queda dos engenhos de açúcar
donça (5 contos de réis). Relatórios dos para o advento das usinas. Salienta-
diversos presidentes sobre os primeiros -se ainda a criação das fábricas têxteis
anos de atividade no local informam “Sergipe Industrial”, no ano de 1882
que, em 1862, houve movimentação de e a “Fábrica Confiança”, em 1918. As
133 cadáveres, sendo 13 deles cativos,12 mudanças ocorridas em Aracaju pro-
no ano de 1866 foram realizados 186 porcionaram a vinda de empresários
sepultamentos, dos quais 6 eram do interior para a capital, gerando uma
escravos; em 1868, foram enterradas
13
burguesia ascendente e ostentando
269 pessoas, sendo 16 cativos,14 por fim, poder,16 configurando a partir de então
ao longo de 1870, ocorreram 277 enter- uma nova relação entre vida e morte.
ramentos, sendo 12 destes escravos,15 Aracaju viveu, assim, no decorrer
Assim, até 1870, o cemitério Santa Isa- das quatro décadas da Primeira Repú-
bel recebeu 865 corpos de diversos gê- blica, considerável aumento populacio-
neros e classes sociais, atestando o seu nal: em 1890, o número de habitantes
era 16.336; já em 1930, o quantitativo
12
Sergipe (Província), Presidente Jacintho de de residentes triplicou, alcançando
Mendonça. 01 de março de 1862.
50.564 pessoas.
13
Sergipe (Província), Vice-Presidente Francisco
Ramos. 20 de janeiro de 1866.
14
Sergipe (Província), Presidente Ferreira da Vei-
ga, 01 de março de 1869. 16
DANTAS, Ibarê. História de Sergipe: República
15
Sergipe (Província), Presidente Cardoso Junior, 11 (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
de maio de 1871. 2004, p. 52.
118 Cad. Pesq. Cdhis, Uberlândia, v.26, n.1, jan./jun. 2013
O ligeiro crescimento econômico os 41 anos da Primeira República, criou
e populacional desvelou então a insu- seus ritos, fez dos funerais eventos sociais,
ficiência da infraestrutura aracajuana. transformou a morte em uma “passagem
A cidade – que outrora não tinha ruas de uma forma de vida social a uma outra.”20
calçadas, água encanada, rede de es- Durante a Primeira República,
goto e eletricidade – precisou ganhar a sociedade sergipana adotou o estilo
investimentos em urbanização, o que barroco de viver e morrer, de acordo
foi feito nos governos de Josino de Me- com seus preceitos cristãos. O trespas-
nezes (1902-1905), Guilherme de Souza se era feito com pompa, acompanhado
Campos (1905-1908), Rodrigues Dórea por multidões que lotavam os bondes
(1908-1911), José Siqueira de Menezes de tração animal rumo ao cemitério
(1911-1914), General Oliveira Valadão Santa Isabel. Notas de falecimento ou
(1914-1918), Pereira Lobo (1918-1922), necrologias estampavam os impressos,
Graccho Cardoso (1922-1926) e Ma- com informações detalhadas dos corte-
noel Corrêa Dantas (1927-1930). Hou- jos fúnebres e do defunto; empresas e
ve avanços significativos: melhorias artistas reproduziam propagandas de
no transporte entre capital e interior, coroas mortuárias e frontões para cai-
construção de cais no rio Sergipe, insta- xões, apontando, assim, um verdadeiro
lação de transporte urbano (bondes da comércio em torno da morte21. Esta,
Carris Urbanos17), implantação de rede portanto, ganha status de aconteci-
elétrica, abastecimento de água, cria- mento social, em que os vivos encami-
ção de rede de esgotos, inauguração de nham (singela ou pomposamente) seus
novos aterros e elaboração do Código entes queridos para a vida eterna.
Sanitário, dentre outros, “melhorando
sobretudo a feição de Aracaju.”18 O Père Lachaise portenho:
Inexorável a todos, a morte deixa cultura material do poder no
de ser considerada evento individual e Cemitério da Recoleta
torna-se coletivo: “é um acontecimento
traumático para a comunidade: uma Um dos bairros mais nobres de
verdadeira crise, que pode ser domi- Buenos Aires, o Recoleta abriga o cemi-
nada mediante a adoção de ritos que tério de mesmo nome com 54 hectares
transformam o acontecimento biológi-
co num processo social.”19 Dessa for- 20
RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos na
ma, a sociedade aracajuana, durante cidade dos vivos: tradições e transformações
fúnebres no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Se-
cretaria Municipal de Cultura, Departamento
17
Empresa responsável pelo transporte urbano na Geral de Documentação e Informação Cultural,
capital através de bondes. Divisão de Editoração, 1997, p. 149.
18
DANTAS, Ibarê. Op.cit., p. 38. 21
Cf. Jornal Diário da Manhã – terça-feira, 26 de
19
GINZBURG, Carlo. Representação: a palavra, a agosto de 1913. pp.1-2; Jornal Diário da Manhã
ideia, a coisa. Olhos de Madeira: nove reflexões – segunda-feira, 18 de abril de 1915. p.2; Jornal
sobre a distância. Tradução de Eduardo Brandão. Diário da Manhã – quarta-feira, 14 de Julho de
São Paulo: Companhia das Letras, 2001, p. 88. 1915, p. 3.
Cad. Pesq. Cdhis, Uberlândia, v.26, n.1, jan./jun. 2013 119
(figs.2 e 3) onde foram sepultados Vi- Juan Andrés o general Gelly y Obes
cente López y Planes (autor do hino na- (chefe do Estado-Maior Argentino na
cional da Argentina); o bioquímico Luis Guerra do Paraguai); a ex-primeira
Federico Leloir (Prêmio Nobel de Quí- dama Eva Perón, além de vários outros
mica); o político e advogado Carlos Sa- ex-presidentes da Argentina e demais
avedra Lamas (Prêmio Nobel da Paz); personalidades.
Figura 2: Painel com a planta baixa do cemitério da Recoleta, Buenos Aires.
Fonte: Fotografia Janaina Mello (2012)
Inaugurado em 1822, o traçado tina, Avelar foi responsável por uma
urbanístico de autoria do engenheiro série de reformas urbanas em Buenos
francês Próspero Catelin foi remodela- Aires, buscando erigir uma imagem
do pelo arquiteto italiano Juan Antonio citadina ao estilo francês, sendo nesse
Buschiazzo – chefe do Departamento processo muito influenciado pela rene-
dos Engenheiros Municipais – já na ração estética-urbana do Barão Hauss-
gestão de Torcuato Antonio de Alvear y mann em Paris.
Sáenz de la Quintanilla, em 1881, como A arquitetura urbana, entre o final
presidente da Comissão Municipal de do século XIX e início do século XX em
Buenos Aires. Buenos Aires, foi permeada por corren-
Logo depois, foi criada a figura tes ecléticas e mais tarde denominadas
política do intendente, designado pelo de “neovernáculo”, “tapera revival” ou
presidente da nação argentina em co- “estilo de grotescos e rocallas” importa-
mum acordo com o Senado. Desse das da França.22
modo, Avelar fora empossado como o
primeiro intendente da cidade pelo pre-
sidente Julio A. Roca, exercendo o car- 22
SCHÁVELZON, Daniel; MAGAZ, María del
go no período compreendido entre 10 Carmen. Cuando el arte llegó al cemento: Arqui-
tectura de grutescos y rocallas en Buenos Aires.
de maio de 1883 e 10 de maio de 1887.
Todo es Historia, nº 320, marzo de 1994, pps.
Vinculado à aristocracia argen- 62-70, Buenos Aires.
120 Cad. Pesq. Cdhis, Uberlândia, v.26, n.1, jan./jun. 2013
Fig. 3: Planta cemiterial 2D da entrada do Recoleta, Buenos Aires.
Fonte: Fotografia Janaina Mello (2011)
Tanto o século XIX quanto o iní- tário e mostrando a pujança das so-
cio do século XX foram marcados pelo ciedades sergipana e argentina no to-
desejo de ostentação estética no post- cante à morte. No túmulo pertencente
-mortem argentino, dessa forma, a à família Coelho Sampaio (fig.4), onde
aristocracia portenha exibia sua rique- jaz Jesuína Carolina Alves Sampaio
(+20/02/1875), Dr. Francisco Sabino
za nos túmulos de modo similar ao que
de Coelho Sampaio (+03/07/1893) e
ocorrera no Père Lachaise, o cemitério
Edgard Coelho (+12/08/1988), obser-
parisiense onde estavam sepultados
va-se que a família importou o anjo e a
Honoré de Balzac, Marcel Proust, Os-
pedra em formato de cruz da Marmo-
car Wilde, Eugène Delacroix, Horácio
raria Carrara, em São Paulo. O anjo de
Pinto da Hora (pintor sergipano), Pier-
asas abertas pede silêncio para não in-
re Bourdieu, Auguste Comte, Fernand
comodar o sono dos mortos, ao tempo
Braudel, Maria Callas, Édith Piaf, den-
que representa a proteção divina.
tre outras celebridades das artes e ciên-
cias. As famílias ocupavam o cemitério
da Recoleta nos finais de semana, fa-
zendo piqueniques para manter a pro-
ximidade com seus antepassados.
Símbolos mortuários: repre-
sentações sociais de tradição e
poder
Compreendem-se os símbolos
mortuários, traçando o contexto do
artefato (túmulo) com o seu proprie-
Cad. Pesq. Cdhis, Uberlândia, v.26, n.1, jan./jun. 2013 121
Fig. 4: Túmulo pertencente à família Coelho Sampaio no cemitério Santa
Isabel, em Aracaju
Fonte: Fotografia Rafael Santa Rosa (2011)
No cemitério da Recoleta há um nalidade ou sua família, senão uma bre-
anjo semelhante, em concreto, no jazi- ve menção de que o sobrenome estaria
go de Salas Lagos (fig. 5), todavia, a co- ligado ao segmento militar argentino.
leta de dados biográficos não encontrou
maiores informações sobre essa perso-
Fig. 5: Anjo pedindo silêncio (Salas Lagos), no cemitério Recoleta, em
Buenos Aires
Fonte: Fotografia Janaina Mello (2011)
122 Cad. Pesq. Cdhis, Uberlândia, v.26, n.1, jan./jun. 2013
Já no jazigo da família José C. Paz 1869, com circulação de 25 mil exem-
(fig. 6) observa-se três anjos e duas mu- plares. Os anjos com os braços esten-
sas em mármore carrara polido. A famí- didos suplicam, intercedem pelo morto
lia traz consigo a história da fundação junto aos céus.
do jornal conservador La Prensa em
Fig. 6: Anjos (família José C. Paz), no cemitério Recoleta, em Buenos
Aires
Fonte: Fotografia Janaina Mello (2011)
Três anjos em postura de oração Os anjos laterais com os braços flexio-
também aparecem circundando o tú- nados assumem um julgamento, tendo
mulo de concreto do padre Anthony em vista ser um padre um instrumento
Dominic Fahy (fig.7), trabalhados em de confissão, julgamento e concessão
mármore e esculpidos por Earley & Co. de perdão.
De Dublin, Irlanda. Em sua composi-
ção a arte mortuária mescla os anjos ao
busto, também em mármore, do padre
e à uma imensa cruz celta de concreto.
Cad. Pesq. Cdhis, Uberlândia, v.26, n.1, jan./jun. 2013 123
Fig. 7: Jazigo do Padre Fahy, no cemitério Recoleta, em Buenos Aires
Fonte: Fotografia Janaina Mello (2012)
O jazigo da família Duarte (fig.8) deu em meio a um contexto de regime
é coberto por placas de granito na cor militar anti-peronista, talvez por esse
preta, sem adornos, destacando-se motivo a sua discrição. Juan Perón foi
apenas na estética pela quantidade de enterrado no cemitério La Chacarita e
placas de bronze de associações que recentemente seu corpo foi trasladado
homenagearam Eva Perón. O túmu- para um mausoléu no município de San
lo familiar fora comprado pelas irmãs Vicente.
de Evita e seu enterramento final se
Fig. 8: Simplicidade discreta (Família Duarte – Eva Perón)
Fonte: Fotografia Janaina Mello (2011)
124 Cad. Pesq. Cdhis, Uberlândia, v.26, n.1, jan./jun. 2013
Quando se realiza uma análise o primeiro indício de bem-estar eco-
simbólica da arte tumular fotografada nômico se vê na compra do supérfluo
, entretanto, entendido como sinal de
entre 2011 e 2012 nos cemitérios Santa
notabilitaçao. Gastar no túmulo faz
Isabel e Recoleta, ressalta-se a presen-
parte do processo de diferenciação so-
ça dos anjos em ambos, tendo em vista cial, especialmente quando se preten-
que as “asas” representam a missão por de prestígio para o nome da família.
Deus destinada a cada ser. Dentro desta Assim tem acontecido desde que os
designação incluem-se os anjos, arcan- cemitérios secularizados se eregiram,
[...] a fim de atender a nobiliarquia do
jos, serafins e querubins. São os anjos
segundo império brasileiro, alias, mais
também um elo de ligação entre o céu e
riqueza do que nobreza, dando suces-
a terra. Assim, aqueles mausoléus que são aos pomposos jazigos de família
os possuem em sua arte anunciam sim- dos barões aos ainda mais pomposos
bolicamente que o morto está protegido jazigos de família dos comendadores.23
e ungido pelos céus.
Alguns mausoléus possuem além O cemitério Santa Isabel possui 226
de anjos, a cruz latina que simboliza sepulcros que datam de 1875 a 2011, sem
a sorte e a esperança, representando levar em consideração o grande número
o sacrifício e o sofrimento – a morte de carneiros.24 As notas de falecimen-
através da crucificação de Cristo – ou a to no jornal Diário da Manhã – Jornal
cruz celta com um anel de interseção, para todos, do coronel Apulchro Motta,
cuja origem é anterior ao cristianismo. em Aracaju/SE (1911 – 1922), baseadas
A cruz celta aparece no jazigo do padre nos sepultamentos no cemitério Santa
Fahy (fig. 7) no cemitério da Recoleta, Isabel estão presentes em 84 jornais. Há
salientando-se que a arte tumular é de uma diferenciação social ao noticiar a
procedência irlandesa, região onde há morte de alguns cidadãos.
uma siginificativa presença da cultura O cemitério da Recoleta possui 4,7
celta. A mesma cruz é ainda muito en- mil mausoléus, dos quais 82 são tomba-
contrada no cemitério Père Lachaise, dos como patrimônio nacional (Decreto
em Paris, em função das imigrações de nº 2.039/1946). Dentre os escultores dos
irlandeses para a França. anjos estão Giulio Monteverde, Federico
O próprio sepultamento em um Fabiani e marmoristas anônimos. “Os
mausoléu representa em si a magnitu- funerais realizados em Buenos Aires e a
de, a grandeza e o luxo, por isso suas construção dos mausoléus se incremen-
construções monumentais, cobertas de tavam à medida em que a sociedade por-
adornos, mármore ou granito, diferen- tenha enriquecia e se europeizava.”25
temente das catacumbas que serviam
de cemitérios subterrâneos longe dos 23
VALLADARES, C. P. Arte e sociedade nos cemi-
olhares cotidianos. Segundo Clarival térios brasileiros. Brasília: MEC-RJ, 1972.
24
Depósitos de ossadas exumadas dos cemitérios.
Prado Valladares: 25
LOJO, María Rosa. Historias ocultas en la Re-
coleta. Buenos Aires: Alfaguara, 1954.
Cad. Pesq. Cdhis, Uberlândia, v.26, n.1, jan./jun. 2013 125
Apesar do caráter religioso dos pelos quais um grupo impõe, ou tenta
símbolos estes permitem a observação impor, a sua concepção do mundo so-
cial, os valores que são os seus, o seu
das mudanças culturais na sociedade.
domínio.”28
Para alguns, o óbito nivela socialmen-
te todos os indivíduos, porém a prática
Assim, os túmulos pomposos eri-
mostra que o espaço cemiterial é um
gidos nos dois cemitérios desvelam nu-
ambiente carregado de símbolos que
ances da estratificação social encontra-
representam a morte e revelam como a
das no domínio da morte.
necrópole de sociedades em constante
Entre convergências e divergên-
mudança serviu para reproduzir a es-
cias, os cemitérios Santa Isabel e Reco-
tratificação social do mundo dos vivos.
leta possuem na arte tumular seu prin-
Na esfera das representações so-
cipal viés de representação simbólica de
ciais, as mortes podem e devem ser
poder econômico, cultural e social quer
entendidas como “geradoras de condu-
em Sergipe, quer em Buenos Aires. Am-
tas e práticas sociais, dotadas de força
bos configuram em seus jazigos a repre-
integradora e coesiva, bem como expli-
sentação da vida/morte burguesas.
cativa do real”26 através dos cortejos fú-
Para além da vida, dominar a re-
nebres e dos símbolos que ilustram os
presentação da morte é por excelência
túmulos.
um ato cultural de poder, quer no pas-
Nesse sentido, Roger Chartier afir-
sado, quer na contemporaneidade.
mou que “as representações do mundo
social assim construídas, embora aspi-
Referências bibliográficas
rem à universalidade de um diagnósti-
co fundado na razão, são sempre deter-
BELLOMO, Harry (org). Cemitérios do
minadas pelos interesses de grupo que
Rio Grande do Sul: arte, sociedade, ide-
as forjam.”27 Então, através dos ritos e
ologia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2000.
práticas funerárias das sociedades ara-
cajuana e portenha, pode-se entender
CHARTIER, Roger. História Cultural:
as representações sociais elaboradas
entre práticas e representações. Tradu-
em torno da morte. Soma-se a justifica-
ção de Maria Manuela Galhardo. Aglés
tiva à ideia de que:
– Portugal: Difel, 2002.
as lutas de representações têm tanta
importância como as lutas econômi- DANTAS, Ibarê. História de Sergipe:
cas para compreender os mecanismos República (1889-2000). Rio de Janei-
ro: Tempo Brasileiro, 2004.
26
PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e História
Cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2008, p.39.
27
CHARTIER, Roger. História Cultural: entre
práticas e representações. Tradução de Maria
Manuela Galhardo. Aglés – Portugal: Difel,
2002, p. 17. 28
Id, ibid.
126 Cad. Pesq. Cdhis, Uberlândia, v.26, n.1, jan./jun. 2013
DETHLEFSEN, Edwin; DEETZ, James. REZENDE, Eduardo Coelho Morgado.
Death’s heads, cherubs and willow Cemitérios. São Paulo: Editora Necro-
trees: experimental archaeology in co- pólis, 2007.
lonial cemeteries. American antiquity,
1996, 31:4, 502-510. REZENDE, Eduardo Coelho Morgado.
O céu aberto na terra; uma leitura dos
DETHLEFSEN, Edwin; DEETZ, James. cemitérios de São Paulo na geografia
Eighteenth century cemeteries: a de- urbana. São Paulo: E.C.M. Rezende,
mographic view. Historical Archaeolo- 2006.
gy. Vol I, 1967, 40-42.
RIBEIRO, Marily Simões. Arqueologia
DIÁRIO DA MANHÃ: JORNAL PARA das práticas mortuárias: uma aborda-
TODOS, Sergipe – Aracajú, maio/1912 gem historiográfica. São Paulo: Alame-
a jan. 1919. da, 2007.
GINZBURG, Carlo. Representação: a RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos
palavra, a ideia, a coisa. Olhos de ma- mortos na cidade dos vivos: tradições
deira: nove reflexões sobre a distância. e transformações fúnebres no Rio de
Tradução de Eduardo Brandão. São Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria Mu-
Paulo: Companhia das Letras, 2001, nicipal de Cultura, Departamento Geral
p. 85-103. de Documentação e Informação Cultu-
ral, Divisão de Editoração, 1997.
LIMA, Tania Andrade. De morcegos e
caveiras a cruzes e livros: a represen- SCHÁVELZON, Daniel; MAGAZ, Ma-
tação da morte nos cemitérios cariocas ría del Carmen. Cuando el arte llegó al
do século XIX (estudo de identidade e cemento: Arquitectura de grutescos y
mobilidade sociais). Anais do Museu rocallas en Buenos Aires. Todo es His-
Paulista. São Paulo. N. Ser. Vol.2 p.87- toria, nº 320, marzo de 1994, pps. 62-
150 jan./dez., 1994. 70, Buenos Aires.
LOJO, María Rosa. Historias ocultas VALLADARES, C. P. Arte e sociedade
en la Recoleta. Buenos Aires: Alfagua- nos cemitérios brasileiros. Brasília:
ra, 1954. MEC-RJ, 1972.
PESAVENTO, Sandra Jatahy. História
e História Cultural. Belo Horizonte:
Autêntica, 2008.
Cad. Pesq. Cdhis, Uberlândia, v.26, n.1, jan./jun. 2013 127
Você também pode gostar
- Eu Sou Chamado - A Vocacao para - Dave HarveyDocumento194 páginasEu Sou Chamado - A Vocacao para - Dave HarveyEliana Figueiredo100% (3)
- História - Mapas MentaisDocumento107 páginasHistória - Mapas MentaisFelliphe BenjamimAinda não há avaliações
- Panorama Do at Aula 1Documento23 páginasPanorama Do at Aula 1Junkeira➊100% (1)
- Intertextualidade Entre Os "Lusíadas" e "Mensagem"Documento2 páginasIntertextualidade Entre Os "Lusíadas" e "Mensagem"Magali100% (1)
- 4 - Estudo Panorâmico em NumerosDocumento5 páginas4 - Estudo Panorâmico em NumerosGabriela Dal Toé Fortuna100% (3)
- Roteiro - ImprimirDocumento19 páginasRoteiro - ImprimirWAGNER ALBERT DE MOURA ALCOFORADOAinda não há avaliações
- Plano de Ensino - Técnicas de Pesquisa em HistóriaDocumento3 páginasPlano de Ensino - Técnicas de Pesquisa em HistóriaLAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- Pratica de Pesquisa I Aula 1Documento29 páginasPratica de Pesquisa I Aula 1LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- Nelson Antonio (Moção) Nico MirandaDocumento13 páginasNelson Antonio (Moção) Nico MirandaLAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- 5.1 - Thornton, J.K. - Religião e Vida Cerimonial No Congo e Areas Umbundo, de 1500 A 1700 - (11cp)Documento11 páginas5.1 - Thornton, J.K. - Religião e Vida Cerimonial No Congo e Areas Umbundo, de 1500 A 1700 - (11cp)LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- 3.3 - REIS, J.J. - Quilombos e Revoltas Escravas No Brasil (26 CPS)Documento26 páginas3.3 - REIS, J.J. - Quilombos e Revoltas Escravas No Brasil (26 CPS)LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- CORREIOS Relatorio de Gestao (Festrocabo)Documento253 páginasCORREIOS Relatorio de Gestao (Festrocabo)LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- Projeto Goiás Sem Lixão - SEMADDocumento2 páginasProjeto Goiás Sem Lixão - SEMADLAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- 6.1 - Souza, M.M. - Catolicismo Negro No Brasil - (22cp)Documento22 páginas6.1 - Souza, M.M. - Catolicismo Negro No Brasil - (22cp)LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- 3.2 - PRICE, R.-Palmares Como Poderia Ter Sido - (8cp)Documento8 páginas3.2 - PRICE, R.-Palmares Como Poderia Ter Sido - (8cp)LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- Inventario Fontes 1Documento16 páginasInventario Fontes 1LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- 3.4 - CARVALHO, J.J.de-a Experiencia Historica Dos Quilombos... - (34cp)Documento34 páginas3.4 - CARVALHO, J.J.de-a Experiencia Historica Dos Quilombos... - (34cp)LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- 2.4 - MATTOSO, K.M.de Q.-Ser Escravo No Brasil-Pag 176-240 - (28cp)Documento28 páginas2.4 - MATTOSO, K.M.de Q.-Ser Escravo No Brasil-Pag 176-240 - (28cp)LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- Resenha - A Aurora Da Minha Vida - NaumDocumento6 páginasResenha - A Aurora Da Minha Vida - NaumLAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- A Alquimia Do Poder - Lourival Fontes e Suas Configurações PoliticasDocumento10 páginasA Alquimia Do Poder - Lourival Fontes e Suas Configurações PoliticasLAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- 2.5 - CUNHA, M.C.da-Antropologia No Brasil - (13cp)Documento13 páginas2.5 - CUNHA, M.C.da-Antropologia No Brasil - (13cp)LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- 10-06-2019 - RESUMO - Brasil A Educaçao Contemporanea - AranhaDocumento66 páginas10-06-2019 - RESUMO - Brasil A Educaçao Contemporanea - AranhaLAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- Inventario de Fontes - Esteee PDFDocumento18 páginasInventario de Fontes - Esteee PDFLAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- Sepultamento Na IgrejaDocumento3 páginasSepultamento Na IgrejaLAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- Pratica de Pesquisa I Aula 2Documento12 páginasPratica de Pesquisa I Aula 2LAZARO LUCIANOAinda não há avaliações
- Todas As Atividades ATRASADASDocumento17 páginasTodas As Atividades ATRASADASGessicaAinda não há avaliações
- Teologia PaulinaDocumento9 páginasTeologia PaulinaMauro FerreiraAinda não há avaliações
- Libertar Kids - 6Documento1 páginaLibertar Kids - 6Cristiane OliveiraAinda não há avaliações
- A Organização ReligiosaDocumento5 páginasA Organização ReligiosaPrMario CézarAinda não há avaliações
- Humor Peidofilia 2Documento30 páginasHumor Peidofilia 2Jorge RodriguesAinda não há avaliações
- Hoje:: A Nova Encíclica de Pio XII: "Fide1 DonumDocumento8 páginasHoje:: A Nova Encíclica de Pio XII: "Fide1 DonumERICK FERNANDESAinda não há avaliações
- Restaurando A Santidade Na Família e Na IgrejaDocumento4 páginasRestaurando A Santidade Na Família e Na IgrejaVitor DiasAinda não há avaliações
- Hinário Mestre IrineuDocumento168 páginasHinário Mestre IrineuBruna MalatestaAinda não há avaliações
- Perfeição CristãDocumento72 páginasPerfeição CristãAugusto GreyAinda não há avaliações
- A Nossa Identidade em CristoDocumento2 páginasA Nossa Identidade em CristoEdvaldo FerreiraAinda não há avaliações
- Hermeneutica PDFDocumento30 páginasHermeneutica PDFAndré Martins100% (1)
- Profecia Cumprida - Evidência de Inspiração Das EscriturasDocumento4 páginasProfecia Cumprida - Evidência de Inspiração Das EscriturasMailsonAinda não há avaliações
- Lição 08 A Unidade Do Corpo de CristoDocumento4 páginasLição 08 A Unidade Do Corpo de CristoFabricio MendesAinda não há avaliações
- Relato Fraternidade Lugar de Festa e de PerdãoDocumento3 páginasRelato Fraternidade Lugar de Festa e de PerdãoFrancisco Araújo OfsAinda não há avaliações
- Exercícios de Fixação - Os PersasDocumento1 páginaExercícios de Fixação - Os PersasWaldinei Cesar ConceiçãoAinda não há avaliações
- Ficha Informativa Frei Luís de Sousa - GarrettDocumento7 páginasFicha Informativa Frei Luís de Sousa - GarrettHenrique Sardo FernandesAinda não há avaliações
- FilosofiaDocumento3 páginasFilosofiaMaria Eduarda Padilha BaltazarAinda não há avaliações
- Semana Santa 2020Documento13 páginasSemana Santa 2020284b8cfbs2Ainda não há avaliações
- Planilha 52 Semanas Iniciante 1Documento28 páginasPlanilha 52 Semanas Iniciante 1Daniel MorandiAinda não há avaliações
- Curso Do Nível Peregrino Apostila 1 Aula 4 Sabedoria Iniciática Das Idades - FasesDocumento5 páginasCurso Do Nível Peregrino Apostila 1 Aula 4 Sabedoria Iniciática Das Idades - FasesVitoria Cristina MedeirosAinda não há avaliações
- Luís Miguel Rêpas, O Mosteiro de Arouca. Os Documentos Escritos Como Fonte de Conhecimento (1286-1299)Documento48 páginasLuís Miguel Rêpas, O Mosteiro de Arouca. Os Documentos Escritos Como Fonte de Conhecimento (1286-1299)Luís RêpasAinda não há avaliações
- Igreja Batista Do Calvário: Favor Preencher TODOS Os Campos Da FichaDocumento2 páginasIgreja Batista Do Calvário: Favor Preencher TODOS Os Campos Da FichaPedro eooeAinda não há avaliações
- Teologia U. ZillesDocumento20 páginasTeologia U. ZillesGabriela PicinatoAinda não há avaliações
- A Subida Do Calvário - ParteIDocumento189 páginasA Subida Do Calvário - ParteILuiza Colassanto ZamboliAinda não há avaliações