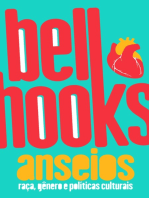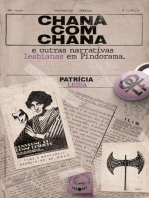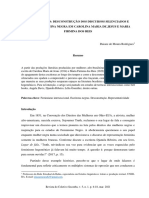Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Escritoras Da Geracao Beat
Enviado por
miriamadelmanTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Escritoras Da Geracao Beat
Enviado por
miriamadelmanDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Escritoras da Geração Beat:
reflexões e apontamentos
Miriam Adelman
Renata Senna Garraffoni
[...] o fervor da Geração Beat surgiu da
repressão e do consumismo exuberante da
sociedade dos anos de 1950. Mas o que faziam
as mulheres enquanto homens como Ginsberg,
Kerouac, Burroughs e, posteriormente, Gregory
Corso, Peter Orlovsky, Michael Mc Clure, Gary
Snyder quebravam todas as regras literárias e
societárias para uivar sua visão ao mundo? Que
lugar tinham nisso as mulheres? Elas podiam ter
um lugar1?
(Jennifer Love)
O início
Uma socióloga preocupada em discutir estudos de gênero no presente. Uma
classicista que se especializou em pensar sobre grupos marginalizados du-
rante o Império Romano. Um Departamento de Sociologia no nono andar, um
de História no sexto. Espaços distintos, carreiras aparentemente distantes.
Parceria improvável, muitos podem alegar. Mas, ao contrário do que a pri-
meira impressão possa passar, pontos de convergência estavam presentes e
latentes nas trajetórias de cada uma: interdisciplinaridade, leituras políticas
sobre o passado próximo ou distante, gosto pela literatura, olhares insti-
gados pela busca da diversidade, do diferente, do marginal. O que faltava?
Uma oportunidade. E ela apareceu em 2011, assim, ao acaso, despreten-
siosa, fruto de uma bate-papo informal em meio à correria cotidiana. Possi-
1 Tradução de Miriam Adelman.
LENTES, PINCÉIS E PÁGINAS
DISCURSOS DE MULHERES 155
bilidade de diálogo? Sim, reconhecemos isso imediatamente. Talvez o mais
instigante resultado desse encontro inesperado tenha sido: juntar experiên-
cias diferentes e criar um espaço de reflexão em conjunto com alunos de dois
cursos da Universidade Federal do Paraná.
Os desafios foram muitos: desde acertar a burocracia para juntar alu-
nos de duas graduações até definir o programa da disciplina. Na ocasião,
uma de nós, Renata Senna Garraffoni, tutora do PET-História, coordenava
uma pesquisa coletiva sobre a geração beat norte-americana, então propu-
semos uma disciplina eletiva sobre essa geração e a contracultura – tema
abordado na tese de outra de nós, Miriam Adelman (2009). Foi no processo
de seleção dos textos, da proposição dos recortes, das conversas com os/
as alunos/as que fomos percebendo que a beat, ou mesmo a contracultura
norte-americana dos anos de 1960-1970, era conhecida no Brasil a partir
de alguns ícones como Kerouac e Ginsberg, mas poucos sabiam da existên-
cia de outros poetas, escritores ou ativistas. Diante disso, discutimos a plu-
ralidade dos espaços de rebeldia, buscando atores que não estavam entre
os mais renomados, mas, principalmente, focamos nas mulheres – inicial-
mente negligenciadas como “personagens menores” do movimento e, em
grande parte, desconhecidas até hoje pelos que dependem da circulação de
literatura em língua portuguesa. O que fizemos naquela ocasião foi juntar
material, ler sobre essas mulheres, procurar saber o que faziam, o que pu-
blicaram, o que pensavam. Aos poucos descobrimos um universo intenso,
complexo, multifacetado, polêmico, contraditório, constituído em meio às
turbulências de um mundo aparentemente pacificado por aquilo que ficou
conhecido como the American way of life. O que significava ser mulher nes-
ses anos de prosperidade e Guerra Fria, de Macarthismo e aparente confor-
mismo? Talvez, lentamente, as jovens dessa geração percebessem que não
queriam e não podiam seguir os passos de suas mães. E que a rebeldia que
elas tanto admiravam nos seus companheiros, parceiros e amigos de sexo
masculino pudesse ter um preço diferente a se pagar quando encarada
no lado feminino. A liberdade sexual e a possibilidade de estabelecer uma
persona pública e de cair fora dos padrões da família nuclear normativa,
tão vigorosamente imposta na época, poderiam significar o mesmo para
uma mulher ou para um homem? Ser mãe era apenas uma imposição so-
cial e normativa e/ou um poder e um prazer das mulheres? Como encarar
virgindade? Aborto? Liberdade na escolha dos parceiros ou das parceiras?
Fidelidade? Trabalhar fora de casa e continuar sendo responsabilizada pelo
bem-estar do lar? Todas essas perguntas e problemas, de alguma forma,
Anna Beatriz da Silveira Paula e Miriam Adelman
156 Organizadoras
atravessaram suas reflexões, marcaram suas vidas, moldaram seus escri-
tos, constituíram suas identidades.
Foi a partir desses questionamentos que buscamos abordar o tema na
disciplina, e, mais tarde, com as discussões do grupo de pesquisa Mulheres
e Produção Cultural, optamos por desenvolver uma reflexão sobre o signifi-
cado da presença feminina no universo beat e a recepção de seus escritos. O
texto que segue é, portanto, o resultado dessa parceria e procura expressar,
de alguma maneira, a fluidez da multiplicidade de formas de pensar e agir
no mundo dessas mulheres, que viveram seu contexto histórico com tanta
intensidade. A proposta não é ordenar suas histórias de vidas cronologica-
mente ou hierarquizar suas obras, mas, ao contrário, juntamos fragmentos
de discursos, muitos traduzidos para o português pela primeira vez nessa
ocasião, para trazer à tona seus incômodos, suas provocações, suas disso-
nâncias, seus desafios, pois, em grande parte, continuam fazendo sentido
hoje, permitindo-nos rever nossas ações no mundo. Optamos, portanto, pelo
diálogo com essas mulheres por acreditarmos que ele permita uma apro-
ximação com um tema pouco conhecido dos/as leitores/as brasileiros/as e
com muitos desdobramentos possíveis.
A geração beat: aproximações
Desde que começamos o trabalho com a estética beat, um aspecto
ficou bastante claro: movimento é algo pungente nas obras de muitos de
seus expoentes. Tema inebriante e provocador na estética de alguns beats,
seus desdobramentos na busca de uma escrita pautada na impermanência
são muitos. Ginsberg, em entrevista para o documentário Jack Kerouac: the
king of the beat2, chegou a afirmar que Kerouac foi um dos escritores que
mais influenciaram as pessoas de sua geração a abrirem seu coração. Sua
obra como um todo, em especial On the road (traduzido no Brasil pela L&PM
como Pé na estrada), vai além da autobiografia ou da ficção e se constitui em
um convite para criar espaços para que escritores deixem pulsar tudo o que
está presente em suas mentes. Em uma fala que mescla princípios budistas
com movimento e a estética da fluidez beat, Ginsberg discorre, em parte
do documentário, exatamente sobre esse ponto de junção entre escrita e
visão de mundo, entre linguagem e vida, uma espécie de transbordamento
intenso que criaria espaços de liberdade. Nesse sentido, pensar linguagem
2 Direção de John Antonelli, 1985.
LENTES, PINCÉIS E PÁGINAS
DISCURSOS DE MULHERES 157
e movimento é um aspecto fundamental em uma discussão sobre estética
beat e, de certa forma, junta-se a uma proposta política de correr livremente
na contramão ou na contracorrente de uma sociedade que então procurava
se manter rígida, estática, hierárquica e julgadora. Essa força foi tão latente
e pungente que levou Brenda Knight (1996) a afirmar que, ainda hoje, os
escritos beats têm o poder de mover as pessoas, pois o fascínio que des-
pertam, além de democratizar a literatura, está vinculado à incansável luta
de seus participantes em estimular a criatividade e a coragem individual no
cotidiano, contra o status quo.
Se, por um lado, a beat começou, em um pequeno grupo de amigos,
como uma urgência de busca por meios de liberdade de expressão, em diá-
logo com seu tempo histórico, seus desdobramentos e impactos nas décadas
posteriores acabaram por criar inúmeros debates. As controvérsias incluíam
tanto a reação dos que rechaçavam suas experiências com a linguagem e
a vida quanto os esforços daqueles que tentavam definir o cânone beat,
perguntando: quem, afinal, poderia ser considerado parte da beat? A quem
pertenceria seu legado?
Essas questões expressam a pluralidade de visões de mundo daqueles
que fizeram parte da beat ou que com ela dialogaram no final dos anos de
1940 nos EUA. De um grupo de amigos que circulava em diferentes redutos
marginais de Nova York e São Francisco aos beatniks do final dos anos de
1950, temos aquilo que Claudio Willer (2009) destaca como um aconteci-
mento social e geracional sem precedentes. Em cerca de uma década, os
amigos que compartilhavam uma estética literária e uma vida marginal pas-
saram a constituir parte significativa dos movimentos de contracultura que
eclodiram nos EUA durante a Guerra Fria. De fato, a luta por liberdade de
expressão e a valorização das transgressões fomentaram a arte e a escrita,
constituindo uma mística que reverteu os espaços do sagrado e fez a vida
pulsar em suas mais diferentes possibilidades (WILLER, 2013).
O choque da pulsão jovem e marginal com um universo cerceado pelo
Macarthismo e pela Guerra Fria, com padrões de conduta baseados no tra-
balho, no consumo e nos valores heteronormativos e da moral judaico-cris-
tã, deixou marcas profundas e não faltaram definições para o fenômeno. O
sucesso de venda alcançado por Kerouac e Ginsberg os colocou em um lugar
de destaque, criando espaços para novas vozes, e ambos, segundo Willer
(2009), tentaram responder o que era a beat, já no final dos anos de 1950. O
primeiro afirmou que seria uma escrita baseada na oralidade, no diálogo com
a música, em especial com o jazz; já o segundo expandiu o conceito, dizendo
Anna Beatriz da Silveira Paula e Miriam Adelman
158 Organizadoras
ser a busca de uma nova consciência. A expansão, assevera Willer, acabaria
por incluir muitos atores: aqueles que participaram e não escreveram ou não
publicaram, as mulheres – cuja presença no movimento, sempre tensionada
pela ambivalência de uma cultura que ainda atrelava o feminino ao domés-
tico, ao subordinado e ao restrito, será nosso objeto aqui –, e os escritores
latinos ou europeus; enfim, uma miríade de possibilidades e pessoas. Ao
tentar fechar a questão, Willer afirma que seria mais produtivo não arrolar
obras e autores, mas pensar como um movimento literário que emergiu a
partir de um grupo de amigos que trabalharam juntos. Pessoas que criaram
juntas, que se envolveram afetivamente, que alucinaram juntas, que parti-
lharam suas visões e percepções políticas e que expuseram seus conflitos e
discordâncias, mas que defenderam uma estética literária baseada na ami-
zade e solidariedade. Ou seja, no limite, com a morte de Kerouac, Ginsberg
assumiu um papel de liderança importante, conseguindo articular a beat e,
por meio de uma fundação, subvencionar as publicações dos companheiros.
Se Ginsberg impressionou pela sua capacidade mística e de administra-
dor (WILLER, 2009), foi também o responsável por definir os traços daquilo
que deveria ser considerado beat e da tradição literária com a qual dialo-
gavam, compondo um universo majoritariamente homossocial3. Partindo
desse pressuposto, é possível argumentar que a definição do que viria a ser
a beat é, de certa forma, fundamentada nas tensões entre o masculino e o
feminino do momento histórico no qual Kerouac, Burroughs e Ginsberg vive-
ram e dependeria da posição de cada um diante delas.
No caso de Ginsberg especificamente, é possível perceber, pelas várias
entrevistas que concedeu sobre as influências literárias em suas obras, que
a construção da tradição literária da qual faria parte não é linear e sofre
variações, mas tem como mentora uma linhagem masculina de poetas e
escritores, em grande medida. Sobre essa questão, vale lembrar aqui as ob-
servações que Edmund White (2013) faz na introdução a uma das coletâneas
de entrevistas do escritor – Mente espontânea. Segundo White, no início da
carreira, as entrevistas de Ginsberg eram mais curtas e pouco frequentes,
3 Segundo Sedgwick (1985), o conceito de homossociabilidade, muito importante para nossa
compreensão dos padrões de interação entre os gêneros e entre os homens na esfera pública
moderna, precisa ser repensado e incorporado à análise cultural. Ela explica: “‘Homossocial’
é uma palavra usada ocasionalmente na História e nas Ciências Sociais para descrever laços
sociais entre pessoas do mesmo sexo; é um neologismo, obviamente formado por uma analogia
com ‘homossexual’, e obviamente significa algo diferente de ‘homossexual’. De fato, é um
termo aplicado a atividades de ‘laços de masculinidades’, que podem, em nossa sociedade, ser
caracterizados por intensa homofobia, medo e ódio à homossexualidade” (p. 1, tradução de
Renata Senna Garraffoni).
LENTES, PINCÉIS E PÁGINAS
DISCURSOS DE MULHERES 159
mas, quando é reconhecido como poeta, elas se tornam mais longas e ele
passa a ver nelas a possibilidade de um ato criativo e de reinventar seus
pontos de vista e reflexões.
É muito comum nessas entrevistas, em especial a partir de meados da
década de 1960, observar Ginsberg criticar o modo como os jornalistas viam
a beat, passando a construir várias abordagens possíveis. Suas fontes ma-
joritariamente são masculinas e ele tece sempre seu caminho como leitor e
poeta a partir desse universo, ora referendando as experiências de Kerouac
e de seus amigos com a linguagem, ora fazendo longos comentários sobre
Blake, Whitman, Pound, entre muitos outros (WHITE, 2013, p. 11-19). Nes-
sas narrativas, Ginsberg tinha como objetivos criar e disseminar suas ideias,
em especial sua construção estética, a vocalidade de seus poemas, sua visão
política. Em algumas delas, as mulheres aparecem como figuras importan-
tes; cita Gertrude Stein, Denise Levertov, Marianne Moore, Emily Dickenson,
entre outras, analisando suas experiências com as palavras e sua busca pela
prosa espontânea, mas define sua linhagem ou tradição poética a partir das
propostas de Whitman e Blake.
A princípio, isso pode não surpreender, pois as estudiosas da produção
cultural das mulheres (a partir do trabalho pioneiro de Simone de Beauvoir,
O segundo sexo, ainda antecedido pelos argumentos sagazes de Virginia
Woolf em Um teto todo seu) já identificaram uma longa história ocidental
de marginalização da voz feminina. Contudo, essa tendência não deixaria
de nos desapontar, ao reconhecermos que ela é, aparentemente, tão con-
fortavelmente reproduzida entre um grupo de pessoas cuja estética, atitude
e visão do mundo procuram a liberdade, a quebra de normas e a mudança.
Porém, como a crítica cultural norte-americana Barbara Ehrenreich sugere
na sua análise das atitudes de rebeldia masculina que emergem ao longo do
século XX, os homens beats, apesar de sua originalidade histórico-literária,
também faziam parte de uma vertente histórica de revolta masculina que
pertence à cultura norte-americana, na qual a crise social se exprime numa
linguagem de crise da masculinidade que se associa a uma alegada feminiza-
ção da cultura (apud ADELMAN, 2009, p. 31). Podemos considerar aqui que,
apesar de seu status de rebeldes, os homens beats tinham, afinal de contas,
uma tradição à qual agarrar-se. Era uma tradição masculina e heroica, que,
nesse caso, exprimia-se claramente na influência de Walt Whitman – o poeta
visionário, o espírito e pensador livre que cantava “para o povo americano”,
o “pai coragem”, famosamente evocado no belo poema de Ginsberg “Um
supermercado na Califórnia”.
Anna Beatriz da Silveira Paula e Miriam Adelman
160 Organizadoras
É exatamente nessa tensão da constituição das trajetórias de rebeldia
que gostaríamos de nos deter. Se, de alguma maneira, os homens tinham
escritos críticos para apoiar-se, e Ginsberg fez questão de explicitá-los ao
longo de sua vida, qual seria o lugar das mulheres nesse universo? A que
tradição se agarrariam? Talvez a crítica pioneira de Virginia Woolf, quando,
no seu ensaio Um teto todo seu, aponta para os efeitos de haver uma longa
tradição literária herdada apenas “por um sexo”, ajude-nos a pensar sobre a
questão. Quando pergunta – de forma pungente e quase retórica – sobre o
impacto da total “falta de uma tradição” literária para “o outro sexo”, ques-
tiona se uma “tradição” se torna, afinal, algo que fundamentalmente viabiliza
ou potencializa o processo de construção da voz. Se somarmos essa “falta
de tradição” às barreiras que as mulheres encontraram ao movimento – ao
querer mover-se, livremente, pelos espaços urbanos ou pelas estradas da
vida – que a própria modernidade criou com sua definição da feminilidade
baseada no lar, é possível entender o cerne da discussão que propomos, isto
é, uma reflexão de como se constituiu, em meio às tensões mencionadas, a
construção das vozes femininas e suas diferenças com relação às masculi-
nas. De fato, homens e mulheres sofriam os diversos efeitos de uma cultura
que atribuía a estas últimas um papel doméstico. Como bem ilustram as me-
mórias de Carolyn Cassady (1990), que casou com o amigo de Jack Kerouac,
Neal Cassady (rapaz que inspirou um dos seus mais famosos personagens, o
Dean Moriarty do romance Pé na estrada), muitas das mulheres que perten-
ciam à vida ou ao círculo dos homens beats viveram presas às dificuldades
de ser livre no feminino. No entanto, o livro da Cassady também retrata as
dificuldades que os papéis criavam para os homens. No caso de Neal, a nar-
rativa de Carolyn ilustra claramente uma tensão entre seu desejo de ser pai
e ter um lar e uma companheira – inteligente, compreensiva e competente
nas coisas da vida – e sua atração por uma vida livre, “da estrada”. E a im-
possibilidade de conciliar os dois. Por outro lado, devemos considerar que,
na época em que eles viviam, ainda faltava articular novas linguagens para
estar na vida, de uma forma que liberasse as pessoas dos “papéis sexuais”
(ou seja, os sex roles, expressão presente tanto na sociologia quanto no
senso comum do momento). Aliás, como tentaremos mostrar um pouco mais
adiante, as escritoras do círculo beat realmente se tornaram pioneiras nes-
se sentido, sendo possível argumentar que faltaria ainda ultrapassar a voz
“protofeminista” (como a de muitas delas) para chegar a um novo tempo,
quando surgiriam as condições – históricas, discursivas – para reconhecer
sua própria contribuição cultural e literária.
LENTES, PINCÉIS E PÁGINAS
DISCURSOS DE MULHERES 161
Todas essas reflexões nos levam a pensar nessa justaposição de expe-
riências: a busca dessas mulheres por novas vivências, a arte como espaço
de fruição e o lugar que ocuparam entre os homens do círculo beat. O que
intriga as estudiosas de suas obras é que, embora, ainda nos anos de 1962,
após o suicídio da jovem escritora e amiga Elise Cowen, Ginsberg tenha usa-
do de sua influência para publicar alguns de seus poemas (JOHNSON, 1999,
p. 258), tenha apoiado Diane di Prima e tenha contado com a ajuda de Anne
Waldman para coordenar a Jack Kerouac School, há uma predominância da
presença masculina no imaginário de quem seria beat. Ronna Johnson e
Nancy Grace (2002), por exemplo, não negam que esses homens tenham
sido iconoclastas, heterogêneos, que rejeitaram a conformidade, o consumo
em excesso ou a repressão sexual, mas suspeitam que também, intencio-
nalmente ou não, eles conseguiram colher os frutos dos seus “privilégios de
gênero”. Assim, para as autoras, a presença feminina no movimento cultural
e artístico foi facilmente mantida em lugares menos visíveis, sendo, portan-
to, subestimada pela posteridade e pelos críticos.
Johnson e Grace argumentam que muitas outras mulheres teriam par-
ticipado em diferentes momentos – de fato, seu livro tenta documentar e
mostrar isso –, redefinindo suas formas de subjetividade e de atuação no
mundo nesse mesmo contexto. Se estiveram presentes, então por que não
receberam maiores reconhecimentos? Essa questão norteia as reflexões des-
sas estudiosas e nos estimulou a pensar a relação entre literatura e socieda-
de, entre o estabelecimento de cânones e a marginalização de textos, enfim,
pensar os processos sociais e históricos que definiram os movimentos lite-
rários como majoritariamente masculinos e as lutas feministas, que deram
visibilidade à pluralidade das formas de viver, sentir e experimentar das mu-
lheres, que se fizeram presentes nos ciclos beats ousando e transgredindo.
É a isso que vamos nos dedicar a seguir.
Quem eram essas mulheres?
Pensar o papel das mulheres e saber mais sobre elas foi uma das pre-
ocupações de Brenda Knight ao organizar a coletânea Women of the beat
generation. Knight foi pioneira nesse sentido: incentivada pelo universo fe-
minista em que desenvolveu seus estudos, estranhou o silêncio e a pouca
quantidade de escritos publicados por mulheres durante a época marcada
pelos movimentos contraculturais. A partir desse estranhamento, pesquisou a
fundo, encontrou muita documentação sobre a vida e a produção das mulhe-
Anna Beatriz da Silveira Paula e Miriam Adelman
162 Organizadoras
res beats e foi uma das primeiras intelectuais a pôr em evidência a pluralidade
daquelas que circularam por esse universo e nele contribuíram, em diferentes
momentos. Seu livro, que redimensiona a relação entre os homens e as mu-
lheres do movimento, é fruto da consolidação da crítica literária feminista. Nele,
Knight estabelece uma tipologia de mulheres que circularam entre os homens
da geração beat e seus trabalhos: as antecedentes, as musas, as beats e as
artistas. Mesmo que Johnson e Grace (2002) critiquem essa tipologia por nem
todas aparecerem e muitas serem consideradas apenas musas, é interessante
perceber que Knight já monta um cenário no qual as mulheres atuam em cír-
culos literários em diferentes momentos ao longo do século XX.
Importante é considerar que muitas dessas escritoras eram de famílias
abastadas, o que possibilitou que tivessem acesso à educação e a outras for-
mas de transmissão de capital cultural; por outro lado, sentiam repulsa pelos
modelos comuns da família nuclear “burguesa”, calcada em “papéis de gêne-
ro” e na heteronormatividade compulsória. Algumas eram mais próximas e
iconoclastas do círculo beat e outras, mais afastadas, mas todas perceberam
o poder questionador que gerava e a oportunidade que oferecia de lutar por
espaço e reconhecimento, sejam como escritoras, sejam como editoras. O
registro fornecido por Knight evidencia a diferença da estética e a pluralida-
de de temas que preocupavam essas mulheres – seus anseios, esperanças,
visões políticas, atuações públicas, perspectivas religiosas, relação com o
corpo, enfim, suas paixões, amores e busca por constituir subjetividades
por meio da arte em um contexto anterior ao das conquistas feministas da
segunda metade do século XX.
Por essa razão, acreditamos que não é à toa que Knight convida Anne
Waldman para prefaciar sua obra, e ela apresenta uma bela reflexão sobre
a luta feminina contra imposições culturais antes dos desdobramentos mais
conhecidos da contracultura. Waldman, de uma geração mais nova e atuante
nos anos de 1960, ao lado de Ginsberg, enfatiza exatamente esse ponto, o
fato de Women ser uma antologia de vidas e lutas antes da “segunda onda”
do feminismo. Ela chama a atenção para a vida partilhada entre homens e
mulheres e, mesmo que os primeiros tenham se sobressaído, acredita que a
participação feminina foi fundamental para compor o novo quadro social do
qual desfrutamos hoje. O esforço de Knight seria, portanto, para Waldman,
um meio de trazer à tona os sofrimentos, as incertezas, a coragem e as dig-
nidades dessas vidas.
Nesse sentido, o ponto de discordância de Johnson e Grace com Knight
não está no poder de sua atuação e transformação social e afetiva, mas na
LENTES, PINCÉIS E PÁGINAS
DISCURSOS DE MULHERES 163
forma como esta propõe a tipologia, preferindo dividir sua obra por crono-
logia. Argumentam que, mais do que serem antecedentes ou musas, as
escritoras estudadas tiveram uma produção bastante significativa por um
longo período de tempo. Todas elas, ao reescreverem os mitos patriarcais,
buscaram ideais de liberdade, não conformismo ou mesmo transcendência
espiritual. Nesse sentido, o que Johnson e Grace defendem é uma reinserção
dessas mulheres no contexto do século XX, uma releitura do seu lugar na li-
teratura e na história cultural, portanto de seus papéis como agentes sociais.
As considerações de Knight ou de Johnson e Grace trazem à tona, cada
uma a seu modo, aquilo que Joyce Johnson já pensava na década de 1980
quando publicou suas memórias: Minor Characters (1999) (primeira edição:
1983). Por ter feito parte do círculo beat e ter sido companheira de Kerouac
quando este publicou On the road, Johnson é capaz de iluminar a comple-
xidade das relações que se desenvolveram no interior do grupo de maneira
singular. Retrata a angústia de sua amiga Elise Cowen e sua paixão por
Ginsberg; fala com admiração da coragem de Hettie Jones, que casou com
o único poeta negro do círculo, Leroy Jones – que, mais tarde, tornaria-se
figura importante na luta contra o racismo nos EUA –, numa época em que
os “casamentos inter-raciais” eram bastante estigmatizados. Por outro lado,
narra sua própria tentativa de se construir como mulher livre, independente
e com uma profissão à sua escolha; desnuda sua relação com Kerouac, já
mais velho e alcoólatra; discute sobre aborto, virgindade, sobre as lutas das
mulheres para ter controle sobre o próprio corpo; analisa as ambiguida-
des masculinas ao reformatar os papéis de gênero; enfim, reflete sobre as
tensões que implicava escrever e viver em um momento em que não havia
modelos de emancipação feminina e em que poucas mulheres ousavam uma
vida para tão longe de casa. Em um relato que reconstrói aspectos de sua
vida, Johnson sintetiza as dores e os prazeres por ter feito parte da beat.
Seguindo os trabalhos críticos e literários dessas autoras, a divulgação
da escrita das mulheres que faziam parte desse cenário revela aspectos
ainda pouco conhecidos do movimento, abrindo espaço para pensar não só
o sufocamento masculino, mas os desafios dessas mulheres e seu papel nas
lutas cotidianas antes da emergência do feminismo da “segunda onda”. Pen-
sar o cânone beat, portanto, incluindo essas mulheres, pode ser entendido
como um desdobramento da democratização da literatura e dos lugares de
atuação feminina ao longo do século XX. O caso do movimento beat ocupa,
nesse sentido, um lugar poderoso, pois permite a reflexão sobre literatura,
estética, ação no mundo, engajamento, filosofia, política, relações de gênero,
Anna Beatriz da Silveira Paula e Miriam Adelman
164 Organizadoras
subversão de valores, lutas por liberdades individuais, vivências libertárias,
sexualidade, espiritualidade. Talvez seja nesse lugar que residam sua força
e sua capacidade de renovação: ao comentarmos sobre Ginsberg, Kerouac,
Joyce Johnson, Anne Waldman, Diane di Prima, Laurence Ferlinghetti, Gregory
Corso, Hettie Jones, Leroy Jones, Gary Snyder, Elise Cowen, entre tantos
outros que poderíamos listar, falamos de homens e mulheres de diferentes
gerações que lutaram, dentro de seus limites históricos, para expandir as
possibilidades de sociabilidade, subjetividade, afetividade, vida coletiva e
justiça social. Ao fomentarem caminhos para a contracultura – mesmo que
isso não tenha sido planejado –, contribuíram para novas formas de pensar
e de fazer política.
Pensar essas questões é, para nós, fundamental, pois significa refletir
sobre a escrita e os múltiplos modos de experiências de vidas. Evidente-
mente, diante de uma grande quantidade de textos e de histórias de vidas,
vimo-nos obrigadas a fazer alguns recortes, sendo que nossa intenção era
trazer discussões para incentivar a leitura de suas obras e o diálogo com suas
posições políticas e paixões.
Estrada, liberdade e construção de identidades
Como as escritoras próximas ao círculo beat significam suas experiên-
cias? Como mulheres, sujeitos e personagens da história cultural? Há muito
material para se pensar essa questão, embora seja pouco explorado, espe-
cialmente quando consideramos o potencial que há para trazê-lo e traduzi-lo
para o nosso contexto acadêmico (e político) brasileiro. Além das produções
de memórias de várias delas, em especial as obras da época e as obras pos-
teriores de Hettie Jones, Diane di Prima e Joyce Johnson, temos um corpus
significativo e pertinente de trabalhos de crítica literária, então, contemplar
esses temas nos abre um campo infindável de possibilidades. Por outro lado,
de acordo com as buscas que fizemos, há poucos títulos delas disponíveis,
hoje, em língua portuguesa – fato que em si parece dizer algo sobre a forma
como, no imaginário brasileiro, ainda se pensa a beat, resumida a nomes
como Kerouac, Burroughs e Ginsberg.
Assim, desde que começamos nosso projeto de destacar a participação
dessas mulheres num movimento cultural que influenciou profundamente
as gerações seguintes, passamos a juntar um material que nós mesmas
encomendamos, desde longe, lendo, analisando e mesmo experimentando
algumas traduções. Nesse percurso, e dentre as múltiplas opções que nos
LENTES, PINCÉIS E PÁGINAS
DISCURSOS DE MULHERES 165
exigiriam um tempo muito maior de exploração de fontes, escolhemos focar
três aspectos, que perpassam por muitas das obras das mulheres com que
tivemos contato: o significado da estrada; questões de amor e de sexualida-
de em meio a tantas experimentações e combinadas com a busca da liber-
dade feminina; e, finalmente, o modo como exploram e definem os caminhos
para o seu “empoderamento” na produção cultural e na vida.
Estrada
A mulher no carro vermelho tem uma mão
ao volante e outra no ar
Ela mantém o ritmo da música
do seu futuro
quer conhecê-lo
não quer ter nada a ver com ele
[...]
a mulher no carro vermelho
está pensando em viver para sempre
mas pensa também não pensar nisso
uma mão ao volante, outra mão no ar4.
(JONES, 1998, p. 22)
Podemos, como estratégia inicial, discutir um dos grandes tropos do
próprio movimento beat: a aventura da vida, da estrada, do fazer-se em
liberdade. Para os homens cujos escritos conhecemos como emblemáticos
do movimento, entregar-se à forma mais espontânea de viver implicava um
grau de desapego com as preocupações da América de classe média, que
vivia, conforme comentamos, obcecadamente as novas possibilidades do
pós-guerra, de estabilidade e de consumo. Kerouac retratava esse universo,
frequentemente, a partir de uma posição de viajante, de quem, conhece-
dor da instabilidade e do preconceito que marcaram sua própria infância e
juventude, opta por se afastar da vida da classe média para ir em direção
à América dos pobres e marginalizados5. Ginsberg, por sua vez, remetia-se
aos conformistas ou “normais”, com ironia – como na sua referência poética
ao pragmático e banal: “em meu cansaço faminto, fazendo o shopping das
4 Fragmento do poema “Ruby my dear”, tradução de Miriam Adelman.
5 No seu livro mais recente, uma biografia de Kerouac, Johnson (2014) percorre os detalhes da
infância e da juventude de quem, noutro momento, viria a ser seu amante/namorado. Ela enfatiza
como as origens de Kerouac numa downwardly mobile família franco-canadense o marcaram,
criando nele uma sensibilidade de outsider, simultaneamente admirador e crítico de uma cultura
da qual nunca poderia realmente fazer parte.
Anna Beatriz da Silveira Paula e Miriam Adelman
166 Organizadoras
imagens, entrei no supermercado das frutas de neon sonhando com tuas
enumerações”6 –, enquanto, em segredo, espiava Whitman e Garcia Lorca,
claros significantes de alteridade.
De fato, Kerouac, Ginsberg e seus colegas travavam uma acirrada dis-
puta simbólica com as noções hegemônicas de sucesso e “normalidade”.
Se, por um lado, muitos homens jovens de classe média podiam encontrar
estímulos para rejeitar a vida pré-formatada que seus pais, ou seu país, que-
riam lhes destinar, por outro havia mulheres jovens que tampouco se con-
tentavam com uma vida nos moldes já traçados por outros. Com a diferença
de que as escolhas das mulheres que não seguiam os padrões esperados já
as colocavam em choque direto não só com os ideais de sucesso da classe
média como também com as normas de gênero, que, à sua vez, implicavam
formas cruéis de vigiá-las, controlá-las e desvalorizá-las, sem permitir esses
tipos de ambiguidade, que, há algum tempo, ampliavam o leque de possibili-
dades para seus pares de sexo masculino, mesmo quando testavam as fron-
teiras da normatividade social. É importante que não esqueçamos, a partir
da posição que ocupamos agora, o quanto isso as colocava numa situação
de pioneiras, que rompiam modelos. Joyce Johnson (1999) já apontava esse
sentido, uma mudança de horizontes entre algumas mulheres de uma nova
geração, quando assinalou que:
No final dos anos de 1950, mulheres jovens – poucas, no início – mais
uma vez saíam de casa com uma certa violência. Elas também vinham
de boas famílias, e seus pais nunca conseguiram entender como as filhas
que eles tinham criado com tanta dedicação poderiam escolher uma vida
precária. Esperava-se de uma filha que ela ficasse sob o teto dos pais até
casar, mesmo se trabalhasse um ano, mais ou menos, adquirindo assim
um pouco de gosto pelo mundo – mas não muito! Experiência, aventura –
essas coisas não eram para mulheres jovens7 (JOHNSON, 1999, p. 32).
Mas essas mulheres do círculo beat, nascidas e criadas na cidade de
Nova York, assim como muitas outras da sua geração, também reivindica-
vam para si uma vida de aventura e experiência. E viveram e construíram
suas percepções acerca da estrada. Joyce Johnson, por exemplo, teve um
papel fundamental nesse processo. Katie Mills (2006), ao analisar On the
road, de Kerouac, por exemplo, entende a obra como uma forma de expres-
são e de identidade masculina que transformou a relação com a linguagem e
6 GINSBERG, 2005, p. 49.
7 Tradução de Miriam Adelman.
LENTES, PINCÉIS E PÁGINAS
DISCURSOS DE MULHERES 167
com a mídia, tornando-se um “estilo visual para inspirar mudanças sociais”8
(MILLS, 2006, p. 46), mas não deixa de nos lembrar de que ela está vincu-
lada aos limites de seu tempo. Embora o texto reconfigure o gênero literário
e construa espaços de lutas por liberdades civis e estéticas, restringe-se às
experiências de Kerouac e de seu ciclo de amigos, indicando que os espaços
de rebeldia não eram iguais para homens e mulheres, negros e brancos.
Mills aponta ainda que tal obra de Kerouac não tinha uma agenda política e
buscou as virtudes de uma narrativa multifacetada, mas seus personagens
tinham zonas de conforto que só foram redesenhadas por Joyce Johnson e
LeRoi Jones, a primeira mostrando, aos vinte e seis anos, as assimetrias de
gênero, e o segundo, já com uma agenda sobre questões raciais nos Estados
Unidos. Se Kerouac acertou ao propor a “estrada como um caminho ao novo
mundo”9, nas palavras de Mills (2006, p. 63), as intervenções posteriores
de LeRoi Jones e de Joyce Johnson teriam liberado uma explosão de formas
e de cores para essa nova experiência.
Sentir-se mais vivo na estrada, ou pegá-la nos momentos de impasse,
atravessar o país do leste ao oeste, bem como cruzar a fronteira que separa
o México dos Estados Unidos, mudar-se para Paris, ir até a Espanha, Marro-
cos ou Índia – numa busca existencial pelo eu e pelo outro – eram, portanto,
experiências mais comuns entre homens. No entanto, algumas mulheres
também experimentaram esses deslocamentos. Elise Cowen e Diane di Pri-
ma realizaram a famosa travessia do leste ao oeste, e di Prima, encantada
com o espírito e a natureza do mundo que descobriu por lá, decidiu ficar.
Algumas radicalizaram, como a jovem Hope Savage, que não só “cruzou ca-
minhos” com Ginsberg em Nova York, São Francisco e Paris, como também,
na busca de uma outra espiritualidade, empreendeu a viagem até o Oriente,
onde se perdeu toda pista de sua vida (BAKER, 2008). Hettie Jones e Joyce
Glassman (mais tarde Johnson), muito “nova-iorquinas”, não fizeram esse
tipo de deslocamento geográfico, embora muito sentissem a relação entre
busca existencial e estrada, no sentido físico e material, e a última tenha
contribuído para novas versões do gênero. E é evidentemente muito signifi-
cativo que a heroína do que talvez seja o primeiro romance beat escrito por
uma mulher, Come and join the dance, de Johnson, termine deixando os EUA
e indo em direção a Paris, aventurando-se – como metáfora e prática – no
8 Tradução das autoras.
9 Idem.
Anna Beatriz da Silveira Paula e Miriam Adelman
168 Organizadoras
libertar-se das amarras de uma cultura que, embora boêmia, ainda se definia
em termos do desejo masculino10.
A estrada, portanto, também foi um meio de construção das subje-
tividades dessas mulheres, e suas narrativas apontam aquilo de que Mills
(2006) nos alertou em seus estudos: as nuances desses processos históricos
de formação de caminhos “generificados”. Para além de um certo “senso
comum” da academia, afirma que precisamos rever a noção da exclusão das
mulheres das práticas e dos mitos de mobilidade, a qual, na verdade, repro-
duz uma falha corrente, ao não conseguir perceber experiências e contra-
narrativas, que, embora menos visíveis ou audíveis, pulsam em frequências
que ouvidos e olhos mais afinados podem captar. Nos casos que apontamos
aqui, mesmo que resumidamente, podemos nos remeter a questões histó-
ricas e materiais: se, como Katie Mills nos alerta, o acesso às estradas e ao
automóvel é elemento-chave que permite aos beats a tão almejada mobili-
dade, a linguagem e a fruição da vida são ressignificadas no masculino e no
feminino, e a liberdade (abstrata ou idealizada) se confunde com rebeldia e
transgressão às normas.
Dentro desse contexto, pautando-nos na convocação de Rita Felski
(2003) de pensar novas metáforas de autoria feminina e debruçando-nos
sobre a poética de Hettie Jones, surge algo que acreditamos ser importante
destacar: a metáfora da “mulher ao volante”, que talvez condense o impulso
poético que subjaz ao seu livro Drive, no qual, num gesto parecido com o
de Felski, a poeta nos convoca a brincar com a convergência de metáforas
de escrita e de autoria de vida. Assim, a mão ao volante é a mesma que
sustenta a caneta (ou digita no teclado), e o carro deixa de ser máquina,
máquina no sentido de apenas veículo impessoal (ou mesmo representante
da tecnologia, da qual por vezes se imagina o distanciamento das mulheres),
tornando-se veículo prenhe de desejos articulados no feminino, como nestes
versos finais do poema “Ode to my car”:
Leve-me, meu amigo,
pelos convidativos caminhos da vida, me enlace
em seu pequeno corpo espaçoso, carregue minhas malas,
10 Ronna C. Johnson e Nancy M. Grace comentam esse primeiro romance escrito por uma beat (e
reeditado, após muitas décadas, apenas em 2014!), com o seguinte balanço: “Recusando-se a ser um
franguinho, Susan renuncia ao papel designado a ela no discurso beat e torna-se autora de sua
própria subjetividade. ‘E ela foi’: não mais passageira ou espectadora, sua renúncia à submissão
se expande e reconstitui noções da iconoclastia beat. Com essa narrativa chacoalhando seu
silêncio, a mulher beat emerge como sujeito, contendo e reconfigurando o que significa ser beat”
(JOHNSON; GRACE, 2002, p. 92, tradução de Renata Senna Garraffoni).
LENTES, PINCÉIS E PÁGINAS
DISCURSOS DE MULHERES 169
minhas mercadorias, meus filhos preciosos. Leve-me
com certeza para onde estou agora, neste silêncio
perfeitamente redondo, à mesa de mulheres,
escrevendo. Por causa de você, nós podemos, e nós escrevemos11
(JONES, 1998, p. 17).
Se Johnson, Savage e Mills chamam a atenção para a importância da
estrada na construção de visões de mundo femininas, é possível pensar que
Hettie Jones, com sua noção de “mulher ao volante”, faça algo parecido, crian-
do uma tensão entre linguagem e vida. Ela nos convida a conduzir, a encontrar
nosso próprio movimento (corporal, individual, social e coletivo), a ultrapassar
barreiras sociais e culturais. E conduzir é também, por vezes, comandar –
quando necessário e, de preferência, de formas que nunca se assemelharão
demais às velhas maneiras autoritárias ou “patriarcais”, arraigadas em quase
todas as instituições sociais modernas. Vale também alertar que Drive foi seu
primeiro livro de poesia publicado. Contudo, saiu num momento em que Jo-
nes já era uma escritora madura, o que permitiu que ali conseguisse reunir o
trabalho de muitas décadas de vida. A obra foi premiada e seguida por mais
dois belos livros de poesia dessa mulher, que, nascida em 1934, continua na
ativa, construindo pontes entre pessoas que, a partir de suas singularidades e
diferenças, procuram também as bases da aproximação.
Amores, maternidade, boemia e liberdade
Se a estrada e a liberdade são temas que passam, aos poucos, a ser
percebidos como conceitos que transbordam visões de mundo, além da es-
tética e da política nas construções subjetivas do masculino e do feminino,
alguns outros conceitos têm uma pulsão maior no universo feminino. Os pra-
zeres e os amores são amplamente relatados nas obras do círculo beat, mas
é sensível como há uma diferença ao se retratar as relações com os filhos.
Se, como estamos argumentando, a crítica aos valores do American way of
life está presente nos seus escritos e estilos de vida, a reflexão sobre o lugar
do “lar” e as relações com os filhos é um tópos feminino, muitas vezes pau-
tado nas negociações que essas mulheres foram construindo para si mesmas
e para os seus companheiros.
Nesse sentido, por exemplo, liberdade e estrada adquirem novas cono-
tações quando entrelaçadas com maternidade. A aposta no desconhecido,
11 Tradução de Joana Pupo.
Anna Beatriz da Silveira Paula e Miriam Adelman
170 Organizadoras
no caminho ainda não trilhado, na contramão do padrão é algo sensível nos
textos dessas mulheres. Em Memories of a Beatnik, por exemplo, publicado,
em 1969, num momento de muita necessidade financeira e escrito sob en-
comenda para uma editora que confiava no seu rendimento comercial, assim
como no livro que escreve numa outra fase de sua vida, Recollections of my
life as a woman, Diane di Prima cria o retrato de sua juventude, momento
em que apostava tudo nesse fazer-se, encontrar-se, viver livremente. Isso é
bem expresso num poema da época, da série Revolutionary letters, no qual a
metáfora da aposta e do jogo, para remeter aos riscos de uma vida assumida
fora dos caminhos comumente trilhados, não poderia ser mais clara:
Acabo de perceber que o que está em jogo sou eu
Não tenho outra moeda de resgate, nada para
quebrar ou trocar, a não ser minha vida
meu espírito parcelado, em fragmentos, esparramado sobre
a mesa de roleta
[...]
só tenho minha pele para oferecer, para fazer minha jogada
com esta cabeça imediata, com aquilo que inventa, é a minha vez
enquanto deslizamos sobre o tabuleiro, e sempre pisando
(assim esperamos) nas entrelinhas12 (DI PRIMA, 2007, p. 7).
Essa liberdade, esse jogar-se no desconhecido, aparece, em outros
contextos, com suas dificuldades próprias. Desde jovem, Diane di Prima foi
extremamente ousada na forma como confrontava expectativas convencio-
nais – em seus livros de memória mencionados, zombou abertamente da no-
ção de que não se podia ser mãe e mulher beat e rebelde ao mesmo tempo.
Se houve alguém que quis mostrar e conseguiu provar que era possível ter
filhos fora dos padrões da família nuclear de classe média norte-americana,
sem condições de estabilidade econômica, sem, por isso, abrir mão dos seus
projetos criativos, certamente foi ela. É realmente estonteante a maneira
como assumiu os desafios de viver um estilo de vida beat e, depois, hippie –
inclusive a vida em comunidade, onde ela, por vezes, era a única pessoa com
condições de pagar as contas e trazer o pão, sendo mãe de cinco crianças,
crianças, aliás, de pais diferentes, numa época em que ter um filho fora do
casamento, out of wedlock, como se dizia, era altamente estigmatizante.
Mesmo que o círculo beat fosse de avant-garde, a circunscrição das
mulheres aos bastidores, ao mundo doméstico e às tarefas de apoio aos
12 “Carta revolucionária 1” (tradução de Miriam Adelman). Disponível em: https://conviteapalavra.
blogspot.com/search?q=diane+di+prima.
LENTES, PINCÉIS E PÁGINAS
DISCURSOS DE MULHERES 171
escritores do movimento, em grande parte, reproduzia-se. Elas se identi-
ficavam com as inquietações expressas pelos homens, relativas ao caráter
opressor da sociedade norte-americana da época, ao mesmo tempo que
intuíam haver um “algo a mais” por que protestar, desde sua posição no “se-
gundo sexo”. Assim, à visão de uma nova boemia que se oferecia faltavam
instrumentos epistemológicos para captar os elementos que as afetavam
especificamente por serem mulheres.
Esse tema está muito presente nas reflexões de diferentes momentos
de Joyce Johnson. Já mais madura, por exemplo, Johnson evoca essa difícil
inserção no contexto da escrita, majoritariamente masculino, na conclusão
de seu livro de memórias – Minor Characters:
Vejo a garota Joyce Glassman, vinte e dois anos, com o cabelo comprido
passando dos seus ombros, vestida toda de preto, como Masha no livro A
Gaivota – meia-calça preta, camisa preta, blusa preta –, mas a diferença
em relação à Masha é que ela não está de luto por sua vida. Nem pode-
ria, nessa cadeira, na mesa, no exato centro do universo, este lugar de
meia-noite para onde tanta coisa converge, o único lugar na América que
está vivo. Como fêmea, não pertence completamente a essa convergên-
cia. Um fato que ela ignora, sentada na sua excitação, enquanto as vozes
dos homens, sempre dos homens, sobem e descem de tom apaixona-
damente, seus copos de cerveja acumulam a fumaça dos seus cigarros,
que sobe rumo ao teto, e a cultura morta está seguramente despertando.
Simplesmente estar nesse lugar, isso em si – ela o diz a si mesma – é
suficiente13 (JOHNSON, 1999, p. 261-262).
Minor Characters, provocativo desde seu título, em grande medida
aponta esse lugar transitório e intenso que muitas mulheres do círculo beat
ocuparam: sem modelos e sentindo a pulsão pelo movimento criado em
torno dos poetas, elas foram desafiadas a pensar o significado de suas vidas
e, de certa forma, iniciaram uma ressignificação do que seria viver como
mulher nesse contexto. Nesse sentido, a liberdade teria, para Johnson e
suas amigas, uma profunda dimensão de gênero, tanto no sentido subje-
tivo individual quanto no sentido coletivo. Procuraram formas de vida que
lhes permitissem construir projetos criativos pessoais e, ao mesmo tempo,
experimentar – e estabelecer – novos modos de sociabilidade não atrelados
ao casamento e à família nuclear. Assumiram o desafio de empreender críti-
cas – com seriedade, reflexividade e senso de humor – ao American way of
13 Tradução de Miriam Adelman.
Anna Beatriz da Silveira Paula e Miriam Adelman
172 Organizadoras
life, em tempos em que a não conformidade a normas e regras hegemônicas
podia ser duramente punida.
Assim, a mobilidade geográfica e a liberdade assumem contornos e
significados diferentes ao serem vividas no masculino e no feminino. Outro
exemplo disso foi a vida de Brenda Frazer (AKA Bonnie Bremser). Ainda
muito jovem, foi casada com o poeta Ray Bremser – mais velho do que ela
e carregando uma história de problemas com a lei. Quando os dois fogem
para o México, começa uma saga de vida marginal, que ela narra no seu livro
Troia. Brenda se prostitui para manter a pequena família, que inclui a bebezi-
nha Rachel, criada por ela com sentimentos de amor e culpa até, finalmente,
ser doada – ela e o marido deixam a filha “do outro lado da fronteira” quan-
do se veem numa situação que os obriga a voltar aos EUA. As angústias, a
ambivalência e o arrependimento que sente em relação ao desdobramento
da sua história ajudam a ilustrar como os contextos moldam as experiências
maternas, que sempre podem ser mais ou menos felizes, mais ou menos
sombrias ou frustrantes.
Hettie Jones, por sua vez, relata aspectos singulares de sua experi-
ência que merecem destaque. Em How I became Hettie Jones, narra vários
aspectos de sua vida, em especial como desafiou as fronteiras raciais da
sociedade norte-americana ao namorar (e, posteriormente, casar e ter duas
filhas) com um jovem poeta negro, LeRoi Jones (mais tarde conhecido como
Amiri Baraka). Sua reflexão aponta as dificuldades de quem procura modelos
para essa situação singular e, ao olhar ao seu redor, não encontra alguém
em quem se espelhar, mas exemplos de vida dos quais se afastar: compara-
va-se não só com seus pais, mas com outras pessoas de sua geração, como
sua própria irmã, casada, mãe de dois filhos, vivendo nos subúrbios, vivendo
para os outros, talvez sem sequer saber por quê. Como nunca se imaginou
vivendo esse roteiro convencional, explicava: “Eu nunca tive planos ‘nor-
mais’ dos anos 1950 – eles pareciam absurdos”14 (JONES, 1990, p. 26). Não
lhe cabia esse modo de vida. Parecia absurdo, pois cultivava um sentimento
de ser diferente e de querer o diferente, mesmo quando ainda não podia
imaginar que forma ou rumo tomaria.
Relata, por exemplo, como, no final dos anos de 1950, curtia caminha-
das solitárias pelas ruas de Nova York nas primeiras horas da madrugada,
coisa evidentemente tão estranha para uma mulher jovem de classe média
14 Tradução de Renata Senna Garraffoni.
LENTES, PINCÉIS E PÁGINAS
DISCURSOS DE MULHERES 173
– ela lembra que até uma viatura da polícia parou uma vez bem perto dela e
que o policial curioso ou preocupado perguntou se ela sabia “para onde ia”:
“Claro”, eu disse, sorrindo para a ironia, desde que eu estava onde estava
porque não tinha certeza ao certo. Mas a ideia, como eu vi, foi facilitar o
possível passado esperado, e, nessa solitude estranha quando o resto do
mundo estava em casa, na cama, eu me sentia mais perto do precipício,
o ponto de transbordamento que poderia empurrar para fora algo, fazer o
que está por vir claro. O que eu deveria fazer agora para que eu pudesse
acontecer? O que vem a seguir?15 (JONES, 1990, p. 27).
Mais tarde, mesmo assumindo, por um tempo, o papel de “esposa de
escritor beat”, Jones não deixava de questionar esse lugar que ocupava.
Sofria de insegurança em relação aos seus próprios talentos literários e ar-
tísticos e tinha duas filhas para criar. Mas escrevia, trabalhava para manter
a família e nunca deixou de procurar seu lugar nessa comunidade boêmia de
artistas, ativistas e intelectuais, que teve um papel de ponta na elaboração
de novas agendas culturais e políticas.
Hettie Jones, como suas colegas Joyce Johnson e Diane di Prima, acom-
panhou a passagem da beat para a contracultura, o surgimento do feminismo
da “segunda onda” e todas as dificuldades que vieram depois, criando filhas
e projetos num mundo que seguiu, ao redor dela, tristes e contraditórios
rumos, nos quais os valores conservadores voltavam a ganhar terreno. Mas
continuou firme na sua trajetória como escritora, feminista, professora, mãe
e incansável lutadora por um mundo melhor16. Há, com certeza, na obra de
cada uma dessas autoras, assim como na obra de outras do seu círculo e ge-
ração (como, por exemplo, a prolífica poeta Diane Wakoski – Cf. ADELMAN,
2014), muito a explorar sobre como elas trabalharam a maternidade como
experiência e linguagem. Para além disso, ao contrastar suas representações
com as do “companheiro de estrada”, dentro dos padrões de camaradagem
dos ambientes da homossociabilidade (SEDGWICK, 1985), obtemos um re-
trato bastante instigante do contexto histórico dos círculos beats, e a busca
pela liberdade de expressão e de vivências pode atingir sentidos múltiplos
ainda pouco explorados. Se considerarmos, como os trabalhos de Sedgwick
(1985) e de Ehrenreich (1983) nos sugerem, que, nos contextos masculinos,
15 Idem.
16 Hoje, autora de uma quantidade de livros – desde poesia à literatura infantojuvenil, sendo até
a coautora de memórias de Rita Marley, viúva de Bob Marley –, trabalha com oficinas e cursos
de criação literária não só na prestigiosa New School, como também em um programa para
mulheres presas (New York State Correctional Facility for Women, Bedford Hills).
Anna Beatriz da Silveira Paula e Miriam Adelman
174 Organizadoras
foram privilegiadas as relações de amizade “entre iguais” – homens inde-
pendentes, autônomos, amantes da estrada, livres de compromissos com
os outros, receosos do tipo de laço que pudesse comprometer seu livre ir e
vir pelos espaços abertos do país e da vida –, entenderemos como tal viés
poderia repercutir direta e visivelmente nas suas relações com as mulheres
e com os filhos que chegassem a gerar junto com elas.
A tensão vivenciada nos anos de 1940-1950 – entre ser mãe e ser su-
jeito livre – mais tarde se torna um tópos da Teoria Feminista da “segunda
onda”, que se esforçará para pensar a questão da maternidade de forma com-
plexa e a sua relação com o conjunto de possíveis experiências e expectativas
da modernidade. Enquanto discurso histórico sobre a “missão” exclusiva das
mulheres ou como norma social concreta, com a imposição do formato de
família nuclear, que as isolava dentro do lar privatizado, a maternidade po-
deria significar a escravidão ou a exigência de se abrir mão da possibilidade
de ser escritora, pensadora, cientista, ativista. Mas muitas mulheres a viviam
todos os dias, de outra maneira, e várias sociólogas, antropólogas e escritoras
atentavam para isso, mostrando que não só poderiam associar a maternidade
à criatividade, se não à linguagem, como também poderiam ousar pensá-la
como uma forma de relação de cuidado (nurturing, caring).
De fato, as teóricas norte-americanas Carol Gilligan e Nancy Chodo-
row escreveram livros pioneiros nos anos de 1970, nos quais examinaram
as formas culturais generificadas de constituição dos sujeitos modernos,
focando as maneiras como homens e mulheres viviam a relação com o eu
e com o outro, de acordo com padrões social e culturalmente estruturados
de maneira divergente. Padrões de socialização moldavam meninos e me-
ninas, tanto em relação a tipos de cognição quanto em relação ao aspecto
emocional, elas argumentavam. Os primeiros eram encaminhados para a
construção de um eu autônomo, que se contrapunha, de forma relativa,
à construção do eu relacional (relational self), das mulheres, pautado na
criação e no sustento da conexão interpessoal e intersubjetiva. A partir
dessa bifurcação, sugeria-se, haveria muito campo para desentendimen-
to, conflito e frustração. Os cruzamentos dessas vidas, as dores, os sofri-
mentos, os amores e, ao mesmo tempo, a construção de novas linguagens
e de novas visões de mundo são, sem dúvida, aspectos inspiradores. Des-
de as que se foram cedo, como Elise Cowen, até as que ainda trabalham
e atuam nos meios artísticos defendendo seus princípios, temos atuações
singulares que, em seu conjunto, ajudaram a romper paradigmas, pois,
como mesmo lembra Diane di Prima em Recollections of my life as a woman,
LENTES, PINCÉIS E PÁGINAS
DISCURSOS DE MULHERES 175
ser poeta/poetisa era uma escolha completa, que exigia coragem e, ao
mesmo tempo, permitia reunir, numa via, os elementos mais significativos
de universos diferentes.
Será que ela sorria calmamente, ou será
que, de fato, sorria, será que levantou
os olhos, os dedos firmes, as mãos trabalhando
com firmeza, será que ela
costurava, assava o pão
ou sonhava, livro aberto no seu colo, será que era
no Egito ou na Galileia, será que o som
de muitas crianças flutuava ao redor dela
ou era só uma
Será que ela, sozinha, era “duas mães
& sete filhos”
e eles, as Plêiades, será que ela
foi sempre lua17
(DI PRIMA, 1998a, p. 111).
Transgressão e empoderamento
Sou uma mulher de quarenta e sete
anos com uma percepção permanente da
impermanência18.
(Joyce Johnson)
Quando iniciamos nossa parceria, não tínhamos ideia do que iríamos
encontrar. Estávamos envolvidas com o projeto de incentivar os alunos a
conhecer mais sobre a contracultura, discutir pontos ligados a linguagem,
literatura e experiências de vida, que, de alguma maneira, questionavam o
status quo. Foi por essa razão que escolhemos as obras de Kerouac e Gins-
berg, por serem emblemáticas, e contamos com o apoio de Claudio Willer,
com suas palestras e comentários na ocasião em que nos visitou a convite do
PET-História e com o amparo do DEHIS e do DECISO. Aprofundamos nossas
leituras e conversas e percebemos que o livro de Knight era algo extraor-
dinário: não só nos forneceu um panorama da vida dessas mulheres, como
nos incentivou a conhecê-las. E fomos. Compramos os livros, dividimos as
leituras, conversamos, traduzimos. Encantamo-nos com seus escritos. Nos-
17 Fragmento do poema “The poet, seeking her”, do livro Loba. Tradução de Miriam Adelman.
18 Tradução das autoras.
Anna Beatriz da Silveira Paula e Miriam Adelman
176 Organizadoras
sa intenção aqui foi compartilhar essa experiência, pois acreditamos que
trabalhar a beat, seu contexto histórico, precisa ser algo feito de maneira
coletiva, com aproximação, diálogo e senso crítico. E foi assim, conversando,
discutindo, lendo e compartilhando os resultados com colegas e amigos, que
chegamos a este texto.
Seguramente não é um trabalho encerrado, mas veio para se somar
aos esforços múltiplos de diálogo com essas pessoas. Foi por essa razão,
também, que escolhemos essas palavras de Joyce Johnson para finalizar
nossas reflexões por ora. Foi com elas que terminou Minor Characters, publi-
cado pela primeira vez em 1983, como comentamos. Quando fez o balanço
de sua vida e do lugar que compartilhou com suas amigas, amigos e aman-
tes, Johnson teve clareza de como algumas memórias foram eclipsadas, de
como viveu contradições e dificuldades, de como lutou sem modelos ou con-
tra modelos, mas, mais do que isso, de como a subjetividade feminina e a
emancipação das mulheres se tornaram objetos de reflexão sem preceden-
tes. Assim como Anne Waldman no prefácio do livro de Knight, Johnson é
precisa em narrar formas de lutas contra imposições culturais, contra limites,
em uma época de experimentação. Ambas, como Diane di Prima e Hettie Jones,
apostaram no potencial do movimento para contar sofrimentos, lutas e con-
quistas, suas e de muitas outras, democratizando os meios de expressão e
os talentos de muitas mulheres. De origem abastada ou não, o que essas
mulheres tinham em comum era a busca por liberdade e pelo reconhecimen-
to de seu trabalho artístico e intelectual, de suas expressões, de suas visões
de mundo, da flexibilização dos meios acadêmicos.
Ao lado dos seus companheiros beats, com suas múltiplas experi-
ências, foram iconoclastas em algum momento, recuaram em outros, re-
fletiram sobre sua condição no mundo, sobre maternidade, sobre aborto,
não foram conformistas e, em alguns casos, buscaram a transcendência
espiritual. De alguma maneira, perceberam que as lutas por construir sub-
jetividades múltiplas passavam pela transgressão, como no caso de seus
amigos e companheiros, mas, talvez, o mais singular tenha sido a percep-
ção de que a conquista dos direitos das mulheres ainda era um longo ca-
minho, necessária talvez não para que falassem, mas sim para que fossem
ouvidas, ou seja, para o reconhecimento. Nesse sentido, abriram espaços
e ajudaram a construir novas linguagens de empoderamento. Se muito do
que desfrutamos hoje são desdobramentos de suas vitórias, também so-
mos, em alguma medida, chamadas aos novos desafios contemporâneos
LENTES, PINCÉIS E PÁGINAS
DISCURSOS DE MULHERES 177
de manter espaços de liberdade, garantindo a fruição dos modos de viver e
suas impermanências criativas.
Obras beats mencionadas
CASSADY, Carolyn. Off the road: my years with Cassady, Kerouac and Ginsberg. New York:
William Morrow and Company, 1990.
DI PRIMA, Diane. Loba. New York: Penguin Books, 1998a.
______. Memories of a Beatnik. New York; London: Penguin, 1998b.
______. Recollections of my life as a woman: the New York years. New York: Penguin, 2002.
______. Revolutionary letters. San Francisco: Last Gasp Publishers, 2007.
FRAZER, Brenda. Troia: a Mexican memoir. Dublin; Champaign; London: Dalkey Archive
Press, 2007.
GINSBERG, Allen. Uivo e outros poemas. Tradução: Claudio Willer. Porto Alegre: L&PM, 2005.
JACK Kerouac: the king of the beat. Direção: John Antonelli. EUA: Dist. Magunus Opus: 1985.
Documentário.
JOHNSON, Joyce. Minor Characters. New York: Penguin, 1999. [1983].
______. The voice is all: the lonely victory of Jack Kerouac. New York: Penguin, 2013.
______. Come and join the dance. New York: Open Road Media, 2014. [1961].
JONES, Hettie. How I became Hettie Jones. New York: Grove Press, 1990.
______. Drive. Brooklyn: Hanging Loose Press, 1998.
KEROUAC, Jack. On the road. [Pé na estrada]. Tradução: Eduardo Bueno. Porto Alegre:
L&PM, 2004. [1957].
Referências
ADELMAN, Miriam. A voz e a escuta: encontros e desencontros entre a teoria feminista e a
sociologia contemporânea. São Paulo: Blucher, 2009.
______. Diane Wakoski, poeta (EUA). Revista Contemporartes, revistacontemporartes.blogs-
pot, p. 1, 03 abr. 2014. Disponível em: http://www.revistacontemporartes.com.br/2014/04/
dianewakoski-poeta-eua-nascidanahttp://www.revistacontemporartes.com.br/2014/04/dia-
newakoski-poeta-eua-nascidana. Acesso em: 23 ago. 2019.
BAKER, Deborah. A blue hand: the beats in India. New York: Penguin Press, 2008.
BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo: fatos e mitos. São Paulo: Círculo do Livro, 1949. v. i.
CHODOROW, Nancy J. The reproduction of mothering. Berkeley: University of California
Press, 1978.
EHRENREICH, Barbara. The hearts of men: American dreams and the flight from commitment.
New York: Anchor Books, 1983.
FELSKI, Rita. Literature after Feminism. Chicago: University of Chicago Press, 2003.
GILLIGAN, Carol. In a different voice: psychological theory and women’s development. New
Haven: Harvard University Press, 1982.
Anna Beatriz da Silveira Paula e Miriam Adelman
178 Organizadoras
JOHNSON, Ronna C.; GRACE, Nancy M. Girls who wore black: women writing the Beat Generation.
New Brunswick: Rutgers University Press, 2002.
KNIGHT, Brenda. Women of the beat generation. Berkeley: Conary Press, 1996.
MILLS, Katie. The road story and the rebel: moving through film, fiction, and television. Carbondale:
Southern Illinois University Press, 2006.
SEDGWICK, Eve Kosofsky. Between men: English literature and male homosocial desire. New
York: Columbia University Press, 1985.
WHITE, Edmund. Introdução. In: GINSBERG, Allen. Mente espontânea: entrevistas 1958 a
1996. São Paulo: Novo Século, 2013.
WILLER, Claudio. Geração beat. Porto Alegre: L&PM, 2009.
______. Os rebeldes: geração beat e anarquismo mítico. Porto Alegre: L&PM, 2013.
WOOLF, Virginia. Um teto todo seu. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
LENTES, PINCÉIS E PÁGINAS
DISCURSOS DE MULHERES 179
Você também pode gostar
- Ouse argumentar: Comunicação assertiva para sua voz ser ouvidaNo EverandOuse argumentar: Comunicação assertiva para sua voz ser ouvidaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (4)
- Coisa de menina?: Uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade e feminismoNo EverandCoisa de menina?: Uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade e feminismoNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5)
- Ribeiro, Djamila - Lugar de Fala (Feminismos Plurais)Documento60 páginasRibeiro, Djamila - Lugar de Fala (Feminismos Plurais)ewa nïara100% (2)
- Pensamento Feminista Brasileiro: Formação e contextoNo EverandPensamento Feminista Brasileiro: Formação e contextoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Devir quilomba: antirracismo, afeto e política nas práticas de mulheres quilombolasNo EverandDevir quilomba: antirracismo, afeto e política nas práticas de mulheres quilombolasAinda não há avaliações
- Pensamento feminista hoje: Sexualidades no sul globalNo EverandPensamento feminista hoje: Sexualidades no sul globalAinda não há avaliações
- PLIM! Avaliacao Trimestral (PT 3ano) Nov 2019Documento6 páginasPLIM! Avaliacao Trimestral (PT 3ano) Nov 2019Joana Peniche de Matos80% (5)
- Rita Lee e A Jornada Da Heroína Rock'n'rollrita Lee e A Jornada Da Heroína Rock'n'rollDocumento27 páginasRita Lee e A Jornada Da Heroína Rock'n'rollrita Lee e A Jornada Da Heroína Rock'n'rollJéssica FeijóAinda não há avaliações
- Vozes afro-atlânticas: autobiografias e memórias da escravidão e da liberdadeNo EverandVozes afro-atlânticas: autobiografias e memórias da escravidão e da liberdadeAinda não há avaliações
- Feminista, eu?: Literatura, Cinema Novo, MPBNo EverandFeminista, eu?: Literatura, Cinema Novo, MPBAinda não há avaliações
- Chanacomchana: e outras narrativas lesbianas em PindoramaNo EverandChanacomchana: e outras narrativas lesbianas em PindoramaAinda não há avaliações
- Pensamento feminista negro: conhecimento, consciência e a política do empoderamentoNo EverandPensamento feminista negro: conhecimento, consciência e a política do empoderamentoAinda não há avaliações
- Mulheres transatlânticas: Identidades femininas em movimentoNo EverandMulheres transatlânticas: Identidades femininas em movimentoAinda não há avaliações
- Espelho de VênusDocumento7 páginasEspelho de Vênustaniacmacedo100% (1)
- Sol e As Suas Flores, o - Rupi KaurDocumento256 páginasSol e As Suas Flores, o - Rupi KaurDiogo SantosAinda não há avaliações
- Sequência Didática 1° Ao 3° Ano F 1Documento38 páginasSequência Didática 1° Ao 3° Ano F 1Professora Rose100% (1)
- Gramática - ResumoDocumento42 páginasGramática - ResumoMaria Clara De Souza SilvaAinda não há avaliações
- Vol. I Cinema e Políticas de EstadoDocumento241 páginasVol. I Cinema e Políticas de EstadoClara Kamei CamargoAinda não há avaliações
- Clássicas do pensamento social: Mulheres e feminismos no século XIXNo EverandClássicas do pensamento social: Mulheres e feminismos no século XIXAinda não há avaliações
- Atravessagem: Reflexos e reflexões na memória de repórterNo EverandAtravessagem: Reflexos e reflexões na memória de repórterAinda não há avaliações
- Jorge Caldeira Nem Céu Nem Inferno Editora Três Estrelas - 2015Documento244 páginasJorge Caldeira Nem Céu Nem Inferno Editora Três Estrelas - 2015Anne Nobre0% (1)
- Feminismo Negro - Notas Sobre o Debate Norte-Americano e BrasileiroDocumento9 páginasFeminismo Negro - Notas Sobre o Debate Norte-Americano e BrasileiroSimone OliveiraAinda não há avaliações
- FI - Orações SubordinadasDocumento3 páginasFI - Orações SubordinadasFraste andreiaAinda não há avaliações
- Valdomiro Silveira - Saudades Do Natal (1920)Documento147 páginasValdomiro Silveira - Saudades Do Natal (1920)Rafael0% (2)
- Aconscienciamestiçagem AnzaldúaDocumento13 páginasAconscienciamestiçagem AnzaldúaThayse GuimarãesAinda não há avaliações
- Consciencia MestiçaDocumento13 páginasConsciencia MestiçaRoberta StubsAinda não há avaliações
- Gloria Anzaldua A Consciencia Mestica eDocumento13 páginasGloria Anzaldua A Consciencia Mestica eElza FariasAinda não há avaliações
- 09-15 - Editorial Temporalidades Ed. 38Documento7 páginas09-15 - Editorial Temporalidades Ed. 38KarinaAinda não há avaliações
- 10955-Texto Do Artigo-30938-2-10-20210308Documento15 páginas10955-Texto Do Artigo-30938-2-10-20210308Rodrigo Michell Araujo, Ph.D.Ainda não há avaliações
- A Representação Da MulherDocumento17 páginasA Representação Da MulherMichele PinheiroAinda não há avaliações
- O plantel de Graciliano: personagens jornalistas em Caetés, São Bernardo e AngústiaNo EverandO plantel de Graciliano: personagens jornalistas em Caetés, São Bernardo e AngústiaAinda não há avaliações
- Teatro FeministaDocumento170 páginasTeatro FeministaRenatoBarrosAlmeidaAinda não há avaliações
- Negras Travessias: Ativismos e Pan-Africanismos de Mulheres NegrasNo EverandNegras Travessias: Ativismos e Pan-Africanismos de Mulheres NegrasAinda não há avaliações
- KUNZLER, M-Participação Das Mulheres Na Política RepresentativaDocumento6 páginasKUNZLER, M-Participação Das Mulheres Na Política RepresentativaAnna EsserAinda não há avaliações
- RESUMO: Educação Inclusiva IIDocumento5 páginasRESUMO: Educação Inclusiva IIkamilaAinda não há avaliações
- 14 SusanaBarrosoDocumento20 páginas14 SusanaBarrosoDiego Matos PimentelAinda não há avaliações
- A Invenção Do CasalDocumento8 páginasA Invenção Do CasalClarissa CeciliaAinda não há avaliações
- 43056-Texto Do Artigo-751375148611-1-10-20180918Documento9 páginas43056-Texto Do Artigo-751375148611-1-10-20180918Rachel AmstrongAinda não há avaliações
- 565-569 - Entrevista Ana Maria VeigaDocumento5 páginas565-569 - Entrevista Ana Maria VeigaKarinaAinda não há avaliações
- Traduzindo o Debate - o Uso Da Categoria Gênero Na Pesquisa HistóricaDocumento22 páginasTraduzindo o Debate - o Uso Da Categoria Gênero Na Pesquisa HistóricaJurema AraujoAinda não há avaliações
- Ana Cristina CésarDocumento21 páginasAna Cristina CésarIzabella AvelarAinda não há avaliações
- 32842-Texto Do Artigo-126737-1-10-20190112Documento18 páginas32842-Texto Do Artigo-126737-1-10-20190112Larissa Anjos de OliveiraAinda não há avaliações
- Mulheres e imprensa no século XIX: Projetos feministas no Rio de Janeiro e em Buenos AiresNo EverandMulheres e imprensa no século XIX: Projetos feministas no Rio de Janeiro e em Buenos AiresAinda não há avaliações
- O Homossexual Visto Por EntendidosDocumento12 páginasO Homossexual Visto Por EntendidosAndre Gomes de AlmeidaAinda não há avaliações
- 83193-Texto Do Artigo-391236-2-10-20190814Documento21 páginas83193-Texto Do Artigo-391236-2-10-20190814Iracélli AlvesAinda não há avaliações
- Thais Azevedo Costa - O Que É Lugar de FalaDocumento5 páginasThais Azevedo Costa - O Que É Lugar de FalaThais AzevedoAinda não há avaliações
- Os Indizivel Nos Cadernos de Elise CowenDocumento17 páginasOs Indizivel Nos Cadernos de Elise CowenEmanuela SiqueiraAinda não há avaliações
- A liberdade em O Prisioneiro de Erico Verissimo: uma perspectiva sartreanaNo EverandA liberdade em O Prisioneiro de Erico Verissimo: uma perspectiva sartreanaAinda não há avaliações
- Lampião QueerDocumento14 páginasLampião QueerCésar Felipe RodriguesAinda não há avaliações
- Ação Direta: Uma Etnografia - PrefácioDocumento12 páginasAção Direta: Uma Etnografia - PrefácioEduardo AndradeAinda não há avaliações
- A Presença Da Mulher Na Literatura e NaDocumento9 páginasA Presença Da Mulher Na Literatura e NaPatricia FreitasAinda não há avaliações
- 27 LayaneDocumento6 páginas27 LayaneHelder GondimAinda não há avaliações
- Lembrando Lelia Gonzalez Luiza-BairrosDocumento14 páginasLembrando Lelia Gonzalez Luiza-BairrosCristiano RodriguesAinda não há avaliações
- A "Descoberta" Do Segundo Sexo: Intelectuais Brasileiras E Suas Aproximações Com O FeminismoDocumento9 páginasA "Descoberta" Do Segundo Sexo: Intelectuais Brasileiras E Suas Aproximações Com O FeminismoLuis eduardo SantosAinda não há avaliações
- Desconstruindo Falas Do FaloDocumento4 páginasDesconstruindo Falas Do FaloMelquisedec PamplonaAinda não há avaliações
- Arquivo LavemonegaofinalDocumento12 páginasArquivo Lavemonegaofinaltiagosilva6021Ainda não há avaliações
- Cópia de Dicionário de Gênero - FeminismoDocumento5 páginasCópia de Dicionário de Gênero - FeminismoCintia FsAinda não há avaliações
- Critica Feminista e o Teor QeenDocumento24 páginasCritica Feminista e o Teor QeenJeferson AlcantaraAinda não há avaliações
- A Queda Do Aventureiro - Aventura, Cordialidade e Os Novos Tempos em Raízes Do BrasilDocumento268 páginasA Queda Do Aventureiro - Aventura, Cordialidade e Os Novos Tempos em Raízes Do BrasilJoao Filho PinheiroAinda não há avaliações
- Documento 3Documento6 páginasDocumento 3Letícia SilvaAinda não há avaliações
- Conceitual GeografiaDocumento1 páginaConceitual Geografiajoaovictorcw69Ainda não há avaliações
- Contos Preto BrancoDocumento26 páginasContos Preto Brancolaurabenjamimjoa426Ainda não há avaliações
- Projeto - Alemão Nas EscolasDocumento4 páginasProjeto - Alemão Nas EscolasKhamylla Alves LoubakAinda não há avaliações
- Avaliacao Formativa A1Documento5 páginasAvaliacao Formativa A1Paula MariaAinda não há avaliações
- Escola Secundária Dr. Ginestal Machado PORTUGUÊS - Módulo 6: Exercícios de Revisão - GramáticaDocumento4 páginasEscola Secundária Dr. Ginestal Machado PORTUGUÊS - Módulo 6: Exercícios de Revisão - GramáticaMaria Carlota NunesAinda não há avaliações
- 2bgabaritoportugus 6anoDocumento41 páginas2bgabaritoportugus 6anofamilyzonepicturesAinda não há avaliações
- Ensino Médio 1 - 2023 - Volume 1 - Prova I: Língua Estrangeira: InglêsDocumento51 páginasEnsino Médio 1 - 2023 - Volume 1 - Prova I: Língua Estrangeira: Inglêstheobessa9Ainda não há avaliações
- 2020 08 Varinhas VassourasDocumento34 páginas2020 08 Varinhas VassourasLeo MiyakoAinda não há avaliações
- É Hora de Entrevistar!: Língua PortuguesaDocumento21 páginasÉ Hora de Entrevistar!: Língua PortuguesaRenata UbedaAinda não há avaliações
- A Vontade de SerDocumento19 páginasA Vontade de Serlucas parenteAinda não há avaliações
- Minidicionário IndigenaDocumento37 páginasMinidicionário IndigenarothAinda não há avaliações
- 2 Cryptograma Verbos Da Alegria Com GabaritoDocumento2 páginas2 Cryptograma Verbos Da Alegria Com GabaritoTaciane M RedinAinda não há avaliações
- Antologia Remissiva Vol I - Napoleão M. Almeida - CompressedDocumento47 páginasAntologia Remissiva Vol I - Napoleão M. Almeida - CompressedArthur Teixeira da Costa MontenegroAinda não há avaliações
- História Da América: Origem E Colonização: Caroline Silveira BauerDocumento16 páginasHistória Da América: Origem E Colonização: Caroline Silveira BauerThiago RORIS DA SILVAAinda não há avaliações
- Atividade 3 e 4 Ano para CasaDocumento4 páginasAtividade 3 e 4 Ano para CasaIngrid SantanaAinda não há avaliações
- A Sociedade em RedeDocumento40 páginasA Sociedade em RedeDiogoAinda não há avaliações
- Funções Sintáticas Ao Nível Da Frase 7ºanoDocumento2 páginasFunções Sintáticas Ao Nível Da Frase 7ºanoLuciana PintoAinda não há avaliações
- Banner Ralf Museu Do Pão Teatro Da ÓperaDocumento1 páginaBanner Ralf Museu Do Pão Teatro Da ÓperaDanielle de MeloAinda não há avaliações
- Semanário Pré 2Documento5 páginasSemanário Pré 2bruna castilhoAinda não há avaliações
- Atividade Coletiva Indústria Cultural 1Documento3 páginasAtividade Coletiva Indústria Cultural 1Andre Marcos da SilvaAinda não há avaliações
- Ficha Oficial D&D 5E Editável em NegritoDocumento3 páginasFicha Oficial D&D 5E Editável em NegritoErick RyanAinda não há avaliações
- 2.TRABALHO de Sociologia Geral2021Documento13 páginas2.TRABALHO de Sociologia Geral2021Casimiro Viriato da AnaAinda não há avaliações