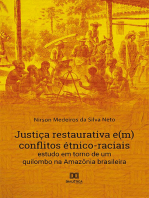Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Fichamento Segato
Enviado por
Carmelita Zuzart0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
31 visualizações6 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
31 visualizações6 páginasFichamento Segato
Enviado por
Carmelita ZuzartDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 6
SEGATO, Rita Laura.
Gênero e colonialidade: em busca de chaves de leitura e de
um vocabulário estratégico descolonial. E-cadernos CES [Online], 18 | 2012,
colocado on line no dia 01 dezembro 2012, consultado a 30 abril 2019. URL:
http://journals.openedition.org/eces/1533 ; DOI : 10.4000/eces.1533
FICHAMENTO
Nesse artigo a autora busca examinar a inter-relação entre colonialidade de
gênero e patriarcado, no contexto da luta pelas autonomias indígenas. Sob a luz da
análise de participações na luta feminista indígena, Segato buscar entender como as
relações de gênero se reproduziram e se modificaram historicamente pelo colonialismo,
onde a falta de transparência sobre as transformações ocorridas ao longo dos séculos faz
com que mulheres indígenas se submetam a manutenção de costumes patriarcais que
muitos supõem ou afirmam como tradicionais, sob a ameaça de perda da “identidade
indígena” em caso de alteração dessas práticas, debilitando assim as demandas por
território, recursos e direitos.
O procedimento adotado pela autora é o que ela caracteriza como “escuta”
etnográfica, de uma “uma antropologia por demanda”, que produz conhecimento e
reflexão em resposta às perguntas feitas pelos os objetos de observação e estudo. Ela
também, formula alguns novos conceitos, uma vez que termos como cultura, relativismo
cultural, tradição e pré modernidade se mostraram, nesse contexto, palavras ineficientes
para lidar com essas pautas.
Em 2003 a autora é convidada por algumas organizações a dar respaldo as lutas
de mulheres indígenas vítimas de feminicídio na fronteira norte mexicana, mas que, de
longe, não é um cenário exclusivo do México. Na verdade, para a autora, esse cenário
de crueldade e de desamparo das mulheres indígenas é reflexo da expansão da
modernidade e do mercado e anexação de novas regiões.
Então Segato traz dois temas que se constituem como problemas análogos: a
falsa escolha entre os direitos das assim chamadas minorias – crianças e mulheres – e o
direito à diferença dos povos indígenas. No caso das crianças indígenas, o problema se
daria por um projeto de lei que se apresenta como uma defesa da vida das crianças
indígenas, ao mesmo tempo em que ameaça o direito dos povos a construir suas
autonomias, onde a salvação das crianças seria um álibi para o Estado intervir na vida
dos povos indígenas, mediante a acusação de maus tratos e infanticídio.
O desafio seria pensar sobre a forma de defender sociedades acusadas da prática
de infanticídio ou de não o considerar crime. Para isso, seria necessário construir um
discurso que não recorria nem ao relativismo cultural nem às noções de cultura e
tradição que se costuma utilizar para defender a realidade indígena e as comunidades na
América Latina. Essa resposta também não apelaria ao direito à diferença, mas sim ao
direito à autonomia, como um princípio que não coincide exatamente com o direito à
diferença, já que não pode tornar-se uma regra compulsória para todos os aspectos da
vida e de forma permanente.
O segundo caso, de violência contra as mulheres indígenas, seria um dilema
semelhante, pois de que forma seria possível recorrer ao amparo dos direitos estatais
sem propor a progressiva dependência do Estado colonizador cujo projeto histórico
esbarra no projeto da restauração das autonomias indígenas e do tecido comunitário?
Pois seria “contraditório afirmar o direito à autonomia e, simultaneamente afirmar que
se deve esperar que o Estado crie as leis que deverão defender os frágeis e prejudicados
dentro dessas autonomias”.
Para resolver esse impasse, a primeira consideração feita pela autora é de que “o
Estado entrega com uma mão aquilo que já retirou com a outra: cria uma lei que
defende as mulheres da violência à qual estão expostas porque esse mesmo Estado já
destruiu as instituições e o tecido comunitário que as protegia”.
A respeito do polêmico tema do infanticídio indígena frente à dominação estatal
e à construção do discurso universal dos direitos humanos das Nações Unidas, torna-se
inviável defender uma autonomia em termos de relativismo cultural. Para defender a
autonomia, a autora se apoie no que ela chamou de pluralismo histórico, onde “Os
sujeitos coletivos dessa pluralidade de histórias são os povos, com autonomia
deliberativa para realizar seu processo histórico, ainda que em contato, como sempre
foi, com a experiência, as soluções e os processos de outros povos”.
Nesse sentido, cada povo é visto como um vetor histórico, longe de ser um
patrimônio substantivo, estável, permanente e fixo de cultura. Os costumes de um povo,
na verdade, são submetidos a deliberação permanente e, em consequência, modificam-
se, uma vez que permanência desse povo não depende da repetição de suas práticas,
nem da imutabilidade de suas ideias. Essa concepção permite referir-se a noção de
identidade de um povo enquanto agente coletivo de um projeto histórico, que tem um
passado comum e constroem um futuro também comum, cujas tramas interna não
dispensam conflitos de interesse e antagonismos éticos e políticos. Ou seja, essa
perspectiva possibilita substituir a expressão “uma cultura” pela expressão “um povo”:
“sujeito vivo de uma história, em meio a articulações e intercâmbios que, mais que uma
interculturalidade, desenham uma inter-historicidade”.
Por isso, deve ocorrer o que Segato chama de uma devolução da história, onde o
Estado restituiria a capacidade de cada povo de implementar seu próprio projeto
histórico, de tecerem seu próprio destino, retomando sua autonomia e agenciamento
histórico, pela devolução da jurisdição e a garantia de deliberação. Assim, o argumento
relativista cede lugar ao pluralismo histórico, que é uma variante não culturalista do
relativismo, imune à tendência fundamentalista inerente a todo culturalismo. Dessa
forma “cada povo deveria ter as condições de deliberar internamente como mudar ou
contornar os costumes que levam a sofrimento desnecessário de alguns dos seus
membros. E essa deliberação, que sempre ocorreu, não é outra coisa que o motor da
história”.
No entanto, depois do longo processo de colonização europeia, do
estabelecimento do padrão da colonialidade e o posterior aprofundamento da ordem
moderna sob a égide das Repúblicas é possível pensar seriamente que esse Estado deve
subitamente retirar-se? há algum modo de habitar de forma descolonial ainda que dentro
da matriz desse Estado e transformá-lo em um Estado restituidor do foro interno, e com
isso, da história própria?
Para a autora, a Ordem pré-intrusão segue conseguindo manter algumas
características pertencentes ao mundo que antecedeu a intervenção colonial, que ela
chama de mundo-aldeia. Contudo, esse contato com o processo colonizador exacerbou
as hierarquias que já continham em seu interior que são basicamente as de status: casta e
gênero. Ele criou entre-mundos de cruzamentos variados de influências benignas e
malignas da modernidade dentro dessas comunidades. Nos entre-mundos do sangue, por
exemplo, existe um entre-mundo da mestiçagem como branqueamento, que dilui o
rastro indígena no mundo miscigenado e o do enegrecimento, que faz parte do processo
de construção e restituição demográfica desses povos.
A análise do que diferencia o gênero na modernidade colonial e na ordem pré-
intrusão revela, segundo a autora, o contraste entre seus respectivos padrões de vida em
geral, em todos os âmbitos e não somente no âmbito do gênero, isto porque essas
relações pertencem a uma cena ubíqua e onipresente de toda vida social da aldeia. Por
isso é mais que válido ler a interface entre o mundo pré-intrusão e a modernidade
colonial a partir das transformações do sistema de gênero, conferindo-lhe um estatuto
teórico e epistêmico ao examiná-lo como categoria central que influencia e clareia todos
os outros aspectos da transformação imposta à vida das comunidades ao serem
capturadas pela nova ordem colonial / moderna.
Muitas mulheres indígenas denunciam frequentemente a chantagem das
autoridades indígenas, que as pressionam para que posterguem suas demandas como
mulheres sob o argumento de que, ao não o fazer, estariam colaborando para a
debilidade da coesão em suas comunidades, tornando essas mais vulneráveis nas lutas
por recursos e direitos. Essas reinvindicações femininas geralmente são abafadas pelas
lideranças masculinas frente a intervenções externas sob a frase guarda-sol do “sempre
foi assim”. No entanto, apesar dos dados documentais, históricos e etnográficos do
mundo aldeia, mostrarem a existência de estruturas reconhecíveis de diferença
semelhantes ao que toca as relações de gênero, e o que fica claro para a autora é que
nesses mundos eram mais frequentes as aberturas ao trânsito e à circulação entre essas
posições que se encontram
interditas no nosso equivalente moderno ocidental.
A adoção de uma postura de mais enrijecida dentro das comunidades indígenas
modernas, na verdade, seria fruto da construção da masculinidade que acompanhou a
humanidade ao longo de todo o tempo, que obrigou os povos colonizados a adquiri-la
como status para sobrevivência, garantia e/ou manutenção de certos espaços e direitos.
Sendo assim, esse encontro foi fatal ao transformar uma ordem hierárquica em ultra
hierárquica, pela superinflação dos homens no ambiente comunitário e no seu papel de
intermediários com o mundo exterior, colapsando assim a esfera doméstica, lugar de
participação e inclusão feminina na esfera política das aldeias. Ou seja: a posição
masculina ancestral foi transformada por pelo papel relacional com as poderosas
agências produtoras e reprodutoras da colonialidade. “É com os homens que os
colonizadores guerrearam e negociaram, e é com os homens que o Estado da
colonial /modernidade também o faz”. Agora, apesar de permaneceram as
nomenclaturas, a posição masculina opera sobre uma nova plataforma, sob nova
configuração interna.
De mãos dadas a esse processo de hiperinflação masculina na aldeia, Segato
pontua que também ocorre a emasculação desses mesmos homens frente aos brancos,
mostrando-lhes a relatividade de sua posição masculina frente ao domínio do
colonizador. “Este processo é violentogênico, pois oprime aqui e empodera na aldeia,
obrigando a reproduzir e a exibir a capacidade de controle inerente à posição de sujeito
masculino no único mundo agora possível para restaurar a virilidade prejudicada na
frente externa”.
Outra parte desse panorama da captação do gênero pré-intrusão pelo gênero
moderno é o sequestro da política, da deliberação sobre o bem comum, por parte da
esfera pública republicana em expansão e a consequente privatização do espaço
doméstico. O resultado disso foi fatal para sua segurança feminina, pois rompeu os
vínculos entre as mulheres e do fim das alianças políticas que eles propiciavam,
tornaram-nas progressivamente mais vulneráveis à violência masculina, esta
potencializada pelo estresse causado pela pressão exercida sobre os homens no mundo
exterior.
“Assim como as características do crime de genocídio são, por sua racionalidade
e sistematicidade, originárias dos tempos modernos, os feminicídios, como práticas
quase mecânicas de extermínio das mulheres são também uma invenção moderna”.
Dessa forma, no mundo-aldeia, o espaço doméstico é um lugar e politicamente
completo com sua política própria, com suas associações próprias, hierarquicamente
inferior ao público, mas com capacidade de autodefesa e de autotransformação. Por isso
o fracasso das estratégias de gênero de alguns prestigiosos programas de cooperação
internacional. Porque eles aplicam um olhar universalizaste e partem de uma definição
eurocêntrica de
“gênero” e das relações que este organiza.
Para a autora, esses projetos e ações de cooperação técnica nos revelam a
dificuldade dos países europeus de perceber a especificidade do gênero nos ambientes
comunitários de sua atuação. Em detrimento a ideia de promover a igualdade de gênero
aplicados a mulheres enquanto indivíduos, ou à relação entre indivíduos mulheres e
indivíduos homens, esses programas precisam pensar em ações dirigidas à promoção da
esfera doméstica e do coletivo das mulheres como um todo, frente à hierarquia de
prestígio e poder do espaço público comunitário e ao coletivo dos homens.
O outro grande erro cometido por esses programas reside no conceito de
transversalidade, que propõe transversalizar as políticas destinadas a sanar o caráter
hierárquico das relações de gênero. Para Segato, é falso o pressuposto de que existem
dimensões da vida comunitária que são de interesse universal: como a economia, a
organização social, a vida política –, e dimensões que são de interesse particular,
parcial: o espaço doméstico. A primeira de valor universal, e a segunda de interesse
particular, privado e íntimo.
“Transversalizar o interesse particular, parcial, como fazem as ações de gênero
atravessando temáticas supostamente universais é um erro quando se pretende alcançar
a realidade dos mundos que não obedecem à organização ocidental e moderna da vida,
mundos que não operam orientados pelo binarismo eurocêntrico e colonial. No mundo-
aldeia, ainda que mais prestigiosa, a esfera do político não é universal, mas, como a
doméstico, uma das parcialidades. Ambas são entendidas como ontologicamente
completas. Por essa razão, a estratégia da transversalização não é outra coisa que um
eufemismo para nomear a inferiorização e parcialização colonial / moderna de tudo
quanto interessa às mulheres”.
Por isso que necessitamos utilizar o entre-mundo da modernidade crítica,
fecundando as hierarquias étnicas através do seu discurso de igualdade e gerando uma
cidadania étnica ou comunitária, adequada ao foro interno e a da jurisdição própria, ou
seja, do debate e deliberação de seus membros, que tecerão os fios de sua história
particular.
Você também pode gostar
- Genealogia Judaico BrasileiraDocumento5 páginasGenealogia Judaico BrasileiraspindolaAinda não há avaliações
- Resumo Raça e HistóriaDocumento7 páginasResumo Raça e HistóriaPatriciaEduAinda não há avaliações
- Conceitos Básicos de HistóriaDocumento12 páginasConceitos Básicos de HistóriaHenricoAinda não há avaliações
- Ensino de Filosofia e GeografiaDocumento632 páginasEnsino de Filosofia e GeografiaRenato Ferreira da Silva88% (16)
- Aula 1Documento26 páginasAula 1Tacia RochaAinda não há avaliações
- Dufrenne Estetica e Filosofia PDFDocumento30 páginasDufrenne Estetica e Filosofia PDFlucicruz100% (1)
- Justiça restaurativa e(m) conflitos étnico-raciais: estudo em torno de um quilombo na Amazônia brasileiraNo EverandJustiça restaurativa e(m) conflitos étnico-raciais: estudo em torno de um quilombo na Amazônia brasileiraAinda não há avaliações
- Feminismo Negro DecolonialDocumento12 páginasFeminismo Negro DecolonialJessica Raul100% (1)
- "Cada Doma É Um Livro": A Relação Entre Humanos e Cavalos No Pampa Sul-Rio-GrandenseDocumento153 páginas"Cada Doma É Um Livro": A Relação Entre Humanos e Cavalos No Pampa Sul-Rio-Grandensedaniel4vaz4limaAinda não há avaliações
- Gênero, colonialidade e luta pelas autonomiasDocumento27 páginasGênero, colonialidade e luta pelas autonomiasFelipe Laurêncio de Freitas AlvesAinda não há avaliações
- Levantados do Chão: Territórios Tradicionais e o Direito BrasileiroNo EverandLevantados do Chão: Territórios Tradicionais e o Direito BrasileiroAinda não há avaliações
- A potência das margens: Corpo, gênero, raça e decolonialidade do poderNo EverandA potência das margens: Corpo, gênero, raça e decolonialidade do poderAinda não há avaliações
- Os Quilombos como novos nomos da terra: da forma-valor à forma-comunitáriaNo EverandOs Quilombos como novos nomos da terra: da forma-valor à forma-comunitáriaAinda não há avaliações
- Raízes do BrasilDocumento4 páginasRaízes do BrasilCarlos GenovaAinda não há avaliações
- Emoções, Discursos e Políticas da Vida CotidianaDocumento16 páginasEmoções, Discursos e Políticas da Vida CotidianaWilliane PontesAinda não há avaliações
- Prova de História dos FeníciosDocumento3 páginasProva de História dos FeníciosAnonymous jRdCgFe100% (1)
- Atividade intEstuHistoricosDocumento5 páginasAtividade intEstuHistoricosjanainabento91% (11)
- Relações Étnico-Raciais para o Ensino Da Identidade e Da Diversidade Cultural Brasileira. PG 74-99Documento27 páginasRelações Étnico-Raciais para o Ensino Da Identidade e Da Diversidade Cultural Brasileira. PG 74-99Lupamino ContatoAinda não há avaliações
- Gênero, colonialidade e autonomiaDocumento27 páginasGênero, colonialidade e autonomiaErika Fernanda de Carvalho100% (1)
- Historia Da Violencia e Sociedade BrasileiraDocumento18 páginasHistoria Da Violencia e Sociedade BrasileiraBel Bel Antunes100% (1)
- A Implantação de Empresas Multinacionais em Moçambique: Uma Reflexão Sobre o Contributo Da Responsabilidade Social Corporativa Da Mozal No Desenvolvimento EconómicoDocumento65 páginasA Implantação de Empresas Multinacionais em Moçambique: Uma Reflexão Sobre o Contributo Da Responsabilidade Social Corporativa Da Mozal No Desenvolvimento EconómicoMirzo Pirá Fernandes Miquidade100% (3)
- Pós Colonialismo, Multiculturalismo e Direitos HumanosDocumento6 páginasPós Colonialismo, Multiculturalismo e Direitos HumanosLeticia TavaresAinda não há avaliações
- Genero e ColonialidadeDocumento27 páginasGenero e ColonialidadeTamíres OliveiraAinda não há avaliações
- Ana Keila Pinezi InfanticidioDocumento25 páginasAna Keila Pinezi InfanticidioFlawya SousaAinda não há avaliações
- Pensamento decolonial e relações de gênero na América LatinaDocumento2 páginasPensamento decolonial e relações de gênero na América LatinaBruna PerrottiAinda não há avaliações
- Exploração feminina trabalhoDocumento16 páginasExploração feminina trabalhoNathália TrípoliAinda não há avaliações
- Gênero e Colonialidade - em Busca de Chaves de Leitura e de Um Vocabulário Estratégico DescolonialDocumento20 páginasGênero e Colonialidade - em Busca de Chaves de Leitura e de Um Vocabulário Estratégico DescolonialmariaAinda não há avaliações
- O movimento de saúde e direitos reprodutivos no BrasilDocumento30 páginasO movimento de saúde e direitos reprodutivos no BrasilannalocaloiraAinda não há avaliações
- Aspectos Historicos e Legais Sobre Estupro No BrasilDocumento18 páginasAspectos Historicos e Legais Sobre Estupro No BrasilSidnei AraujoAinda não há avaliações
- Metodologia - AntunesDocumento4 páginasMetodologia - Antunesdaniel.victor.324567Ainda não há avaliações
- Defesa do pluralismo jurídico e autonomia indígenaDocumento4 páginasDefesa do pluralismo jurídico e autonomia indígenaFernanda Ferreira100% (1)
- Cultura É Uma Preocupação ContemporâneaDocumento6 páginasCultura É Uma Preocupação ContemporâneaJuliano Antonio BortolomediAinda não há avaliações
- Ensino da arquitetura e autonomia infantilDocumento11 páginasEnsino da arquitetura e autonomia infantilVictoria CapistranoAinda não há avaliações
- Antropologia e Direito Temas Antropológicos para Estudos JurídicosDocumento32 páginasAntropologia e Direito Temas Antropológicos para Estudos JurídicosAndressa GuerraAinda não há avaliações
- Trabalho Final - Relações Etnico-Racias Na Escola.Documento7 páginasTrabalho Final - Relações Etnico-Racias Na Escola.RhuanAinda não há avaliações
- Desafios S Lutas Das Mulheres Enraizadas em Seus Territrios Um Olhar DescolonialDocumento3 páginasDesafios S Lutas Das Mulheres Enraizadas em Seus Territrios Um Olhar DescolonialGabyy SantosAinda não há avaliações
- Ensaio Temas de Polà Ticas Contemporà Neas 1 - FinalDocumento4 páginasEnsaio Temas de Polà Ticas Contemporà Neas 1 - FinalMariana CostaAinda não há avaliações
- Atividade 01 - Fund Antropológicos Da Educação.Documento5 páginasAtividade 01 - Fund Antropológicos Da Educação.João DouglasAinda não há avaliações
- Teorias Antropológicas de Marshal SahlinsDocumento3 páginasTeorias Antropológicas de Marshal SahlinsGabriel MartinsAinda não há avaliações
- Rediscutindo A Mestiçagem No BrasilDocumento10 páginasRediscutindo A Mestiçagem No BrasilMaria Isabel ZanzottiAinda não há avaliações
- Identidade Quilombola e Exclusão SocialDocumento12 páginasIdentidade Quilombola e Exclusão SocialFernanda NathaliAinda não há avaliações
- Kabengele-Munanga - Algumas Considerações Sobre 'Raça', Ação Afirmativa e Identidade Negra No Brasil Fundamentos AntropologicosDocumento12 páginasKabengele-Munanga - Algumas Considerações Sobre 'Raça', Ação Afirmativa e Identidade Negra No Brasil Fundamentos AntropologicoswandersonnAinda não há avaliações
- História Do Ceará II - Erick AraújoDocumento25 páginasHistória Do Ceará II - Erick AraújoLuiza Rios100% (1)
- Mito Da Democracia Racial E Estado Brasileiro: A Materialidade Da Fantasia Suellen Silva Da CruzDocumento19 páginasMito Da Democracia Racial E Estado Brasileiro: A Materialidade Da Fantasia Suellen Silva Da Cruzeula.paula.silvaAinda não há avaliações
- Multiculturalismo e Descolonização de Saberes - Carolina Lima e Luciana DiasDocumento17 páginasMulticulturalismo e Descolonização de Saberes - Carolina Lima e Luciana DiasCarolina LimaAinda não há avaliações
- Relativismo Cultural e UniversalismoDocumento2 páginasRelativismo Cultural e UniversalismoDaniel Bueno AmorimAinda não há avaliações
- Artigo Alzira RufinoDocumento12 páginasArtigo Alzira RufinoThaíseSantanaAinda não há avaliações
- 33445-Texto Do Artigo-140842-1-10-20141230Documento17 páginas33445-Texto Do Artigo-140842-1-10-20141230Tiago ReisAinda não há avaliações
- Direitos humanos em pretuguês: desafios de uma abordagem decolonialDocumento12 páginasDireitos humanos em pretuguês: desafios de uma abordagem decolonialVanessa LoboAinda não há avaliações
- Construção social do corpo feminino à arte da libertaçãoDocumento19 páginasConstrução social do corpo feminino à arte da libertaçãoDiana SilvaAinda não há avaliações
- Experiências de mulheres negras no pós-aboliçãoDocumento17 páginasExperiências de mulheres negras no pós-aboliçãoTaiane LopesAinda não há avaliações
- Feminismos de/pós-coloniais sob rasuraDocumento12 páginasFeminismos de/pós-coloniais sob rasuracarolscribd32Ainda não há avaliações
- Escravos e forros em São Paulo 1850-1880Documento4 páginasEscravos e forros em São Paulo 1850-1880Glaucy SilvaAinda não há avaliações
- A internacionalização dos Direitos Humanos e o relativismo cultural: a mulher muçulmana na busca da igualdade como reconhecimentoNo EverandA internacionalização dos Direitos Humanos e o relativismo cultural: a mulher muçulmana na busca da igualdade como reconhecimentoAinda não há avaliações
- Ekeys, A Trajetória Histórica Da Violência de Gênero No BrasilDocumento18 páginasEkeys, A Trajetória Histórica Da Violência de Gênero No BrasilVictoria SayuriAinda não há avaliações
- Ensaio ReflexivoDocumento5 páginasEnsaio ReflexivoGEOVANNA SANTOS DA SILVAAinda não há avaliações
- Estratificação CLASSES - SOCIAISDocumento50 páginasEstratificação CLASSES - SOCIAISHermes TrismegistusAinda não há avaliações
- Direitos Humanos e Cosmopolitismo MulticulturalDocumento3 páginasDireitos Humanos e Cosmopolitismo MulticulturalJadson MoraesAinda não há avaliações
- Fichamento de O Despertar de Tudo Uma NoDocumento4 páginasFichamento de O Despertar de Tudo Uma NorODRIGOAinda não há avaliações
- TEXTO 00 - REVISTA CULT - Diversidade Ou Diferença - Richard MiskolciDocumento4 páginasTEXTO 00 - REVISTA CULT - Diversidade Ou Diferença - Richard MiskolciCarolina GrantAinda não há avaliações
- Ancestralidade e território na história do Norte de EsmeraldasDocumento48 páginasAncestralidade e território na história do Norte de EsmeraldasJeanneth Yépez0% (1)
- A Construção Da Equidade Nas Relações de Gênero e o Movimento Feminista No Brasil: Avanços e Desafios.Documento25 páginasA Construção Da Equidade Nas Relações de Gênero e o Movimento Feminista No Brasil: Avanços e Desafios.MozerAinda não há avaliações
- História, Memória e Patrimônio: conceitos-chaveDocumento13 páginasHistória, Memória e Patrimônio: conceitos-chaveCecilia Sampaio Do ValeAinda não há avaliações
- Violência e Cultura Brasileira - LIMA, AntônioDocumento9 páginasViolência e Cultura Brasileira - LIMA, AntônioMarcos ViniciusAinda não há avaliações
- Lidia CardelDocumento13 páginasLidia CardelEdilvan Moraes LunaAinda não há avaliações
- Psicologia Social: Disciplina: Cultura e Processo de SubjetivaçãoDocumento29 páginasPsicologia Social: Disciplina: Cultura e Processo de SubjetivaçãoRicardo CunhaAinda não há avaliações
- Resumo HierarquiasDocumento6 páginasResumo Hierarquiascubic_medusaAinda não há avaliações
- Coletividades em afirmação: debates e visibilidades: - Volume 1No EverandColetividades em afirmação: debates e visibilidades: - Volume 1Ainda não há avaliações
- As 7 soluções para falta de dinheiro e como fazer seu dinheiro render maisDocumento5 páginasAs 7 soluções para falta de dinheiro e como fazer seu dinheiro render maisProatma Soluções DefinitivasAinda não há avaliações
- AfroamerindioDocumento140 páginasAfroamerindioDaniel JuniorAinda não há avaliações
- Redação NormasDocumento2 páginasRedação NormasVilson JuniorAinda não há avaliações
- Metáforas organizacionais e a FordDocumento39 páginasMetáforas organizacionais e a Fordmaneto09Ainda não há avaliações
- O conceito de texto ao longo dos séculos: da Antiguidade à atualidadeDocumento34 páginasO conceito de texto ao longo dos séculos: da Antiguidade à atualidadeAnderson BezerraAinda não há avaliações
- Colonos, índios e missionários na colonização do Rio Grande do NorteDocumento0 páginaColonos, índios e missionários na colonização do Rio Grande do NorteVictor GabrielAinda não há avaliações
- A Pluralização No Webjornalismo ParticipativoDocumento271 páginasA Pluralização No Webjornalismo ParticipativoMarcelo Träsel100% (11)
- A FORMAÇÃO DE COLETIVOS EDUCADORES E ECOCIDADANIA NO ECOSSISTEMA BABITONGA - LITORAL NORTE CATARINENSE: Contribuições Da Abordagem Metodológica "Trilha Da Vida"Documento84 páginasA FORMAÇÃO DE COLETIVOS EDUCADORES E ECOCIDADANIA NO ECOSSISTEMA BABITONGA - LITORAL NORTE CATARINENSE: Contribuições Da Abordagem Metodológica "Trilha Da Vida"Rodrigo Cesário Pereira SilvaAinda não há avaliações
- Ética No Contexto de EnfermagemDocumento5 páginasÉtica No Contexto de EnfermagemMaria MarquesAinda não há avaliações
- Bibliografia para Agu e PFNDocumento4 páginasBibliografia para Agu e PFNÉrica Monteiro100% (1)
- Aula 03 04 e 05 - Apostila - FichamentoDocumento21 páginasAula 03 04 e 05 - Apostila - FichamentoPaula Ramos GhiraldelliAinda não há avaliações
- Plano de Aula KirlaDocumento3 páginasPlano de Aula KirlaJuliana SchneiderAinda não há avaliações
- O que caracteriza o conhecimento científicoDocumento14 páginasO que caracteriza o conhecimento científico9l6xc3100% (1)
- ElíasPalti Como Ensinar A Pensar HistóricamenteDocumento18 páginasElíasPalti Como Ensinar A Pensar HistóricamenteDavi Santos BarrosAinda não há avaliações
- 6728 PerseverançaDocumento15 páginas6728 Perseverançaclarisseforte7Ainda não há avaliações
- Teoria da Transposição Didática de Chevallard, Izquierdo e de Mello (CHIMDocumento22 páginasTeoria da Transposição Didática de Chevallard, Izquierdo e de Mello (CHIMosnildo carvalhoAinda não há avaliações
- Encontro Internacional de História UFESDocumento51 páginasEncontro Internacional de História UFESLevyAinda não há avaliações
- Cidadania e direitos das criançasDocumento8 páginasCidadania e direitos das criançasClairton RibeiroAinda não há avaliações
- AdjetivosDocumento3 páginasAdjetivosWanessa Andrade SoaresAinda não há avaliações
- Análise fenomenológica da religião popularDocumento19 páginasAnálise fenomenológica da religião popularcristianonickelAinda não há avaliações
- Historia Da ArteDocumento4 páginasHistoria Da ArteJunior MadrugaAinda não há avaliações