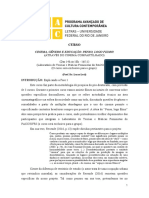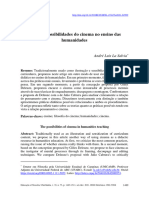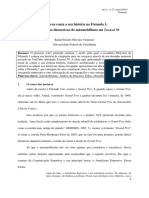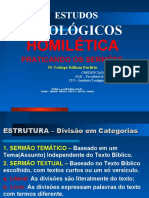Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Pensar o outro no cinema
Enviado por
Alexandre Bruno GouveiaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Pensar o outro no cinema
Enviado por
Alexandre Bruno GouveiaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
PENSAR O OUTRO NO CINEMA:
Por uma ética das imagens
Rosa Maria Bueno Fischer(*)
Fabiana Marcello(**)
Poderíamos dizer, seguindo Foucault, que um dos perigos de nosso tempo seriam os tantos
conflitos relacionados ao modo como lidamos com a alteridade? Seguramente, sim. Inspiradas nas
formulações de Julia Kristeva, dentre outros autores, discutimos neste texto questões relacionadas
ao tema do “outro”, do estrangeiro e da diferença, articulando-as a dados de uma pesquisa de
recepção ao cinema, por estudantes universitários.
Ao mesmo tempo em que construímos argumentos em torno dessa temática, analisamos
comentários elaborados por estudantes de Comunicação e de Pedagogia, da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul. Os materiais escritos foram produzidos em situação de sala de aula, cujo
objetivo era oferecer aos alunos a experimentação de um conjunto de filmes, debatidos a cada
semana, durante um semestre.1 O propósito, aqui, é depositar um olhar sobre a relação dos jovens
com os filmes iranianos: Filhos do Paraíso, Cópia Fiel, Onde Fica a Casa do meu Amigo? e
Persépolis,2 A experiência com 150 alunos, em dois anos, tem mostrado a potência de um
aprendizado relativo à linguagem cinematográfica, à história do cinema, às distintas opções de
construção de narrativas fílmicas.
Tal aprendizado fala de uma forma particular de educação do olhar, cujo foco diz respeito a
uma formação ética e ao mesmo tempo estética, em cujo centro estão, inseparáveis, questões que
nos convocam a pensar sobre nós mesmos. Algumas perguntas mobilizaram os encontros: Como
me disponho a ver (e a falar de) algo que nunca antes havia ocupado meu pensamento, pelo menos
(*)
Pós-doutorado/New York University, NYU, Estados Unidos, Docente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS). E-mail: rosabfischer@terra.com.br.
(**)
Doutorado na UFRGS com período sanduíche em Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Docente da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). E-mail: famarcello@gmail.com.
1
Trata-se de uma disciplina eletiva, cujo título é Epistemologia da Comunicação, oferecida a vários cursos da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os comentários analisados neste texto reúnem produções feitas por
universitários nos quatro semestres, de 2014 e 2015. São 35 alunos em cada turma – estudantes de classe média, com
idade entre 19 e 25 anos, com 60% de mulheres. Selecionamos apenas materiais elaborados a respeito de filmes
iranianos.
2
Persépolis (França, direção de Marjane Satrapi e Vincent Paronnaud, 2007); Filhos do paraíso (Irã, direção de Majid
Majidi, 1998); Cópia fiel, de Abbas Kiarostami (Bélgica, Itália, França, 2010); Onde fica a casa do meu amigo? (Irã,
direção de Abbas Kiarostami, 1987).
Revista Teias v. 17 • n. 47 • (jan./mar. - 2016): Cinema e Educação em Debate 13
de um modo tão claro? De que modo a narrativa deste filme me conduz imediatamente a sensações
ou a lembranças guardadas tão fortemente em mim, e agora revividas? Como aceito (ou rejeito) um
modo específico de mostrar isto ou aquilo? Por que desejo um outro desfecho para a narrativa? Que
diferença há entre ver este filme no espaço da sala escura do cinema, na intimidade da minha casa
ou do meu quarto, e aqui, na sala de aula?
Um pouco sobre o projeto
Quando nos propusemos a pesquisar o cinema junto a jovens universitários, tínhamos um
compromisso ético a orientar o trabalho. Entendemos que “O real precisa ser ficcionado para ser
pensado” (RANCIÈRE, 2009. p. 58). Tal enunciado poderia ser considerado o mote principal da
investigação. Rancière não afirma que tudo é ficção; para ele, “escrever a história e escrever
histórias pertencem a um mesmo regime de verdade” (Idem, p. 58). Trata-se do fato de que política
e arte, no âmbito de diferentes saberes, sempre, de alguma forma, constroem “ficções”; pode-se
dizer que estamos, permanentemente, diante de “rearranjos materiais dos signos e das imagens, das
relações entre o que se vê e o que se diz, entre o que se faz e o que se pode fazer” (idem, p. 59,
grifos do autor).
Ao escolher filmes iranianos, propusemos um modo particular de fruição estética, em que a
racionalidade dos fatos e a racionalidade das ficções se conectam, em vários sentidos. Os filmes de
que tratamos aqui fazem parte de um conjunto maior (de 15 obras, para cada turma), entre as quais
encontram-se documentários como os de Eduardo Coutinho ou de Wim Wenders. Ou obras como
Sonhos de Kurosawa; ou, ainda, filmes como A Lei do Desejo, de Almodóvar.3
Nossas anotações, associadas aos comentários redigidos em cada final de aula, permitem
supor que os alunos, em sua maioria, viveram um tipo de experiência que os convidava a
embaralhar os modos de olhar pré-fixados, de modo a indagar-se sobre as relações entre fantasia e
verdade, criação e “coisas vividas”, narrativas do outro e sobre o outro, considerando-se o que
pensamos de nós mesmos. Nos encontros, predominaram as discussões sobre o caráter ficcional de
um documentário ou sobre o vínculo de uma obra de ficção com o que se costuma chamar de “fatos
da realidade”.
3
Outros exemplos de filmes vistos em 2014 e 2015: Invisible Crimes (Wim Wenders, curta do filme Invisibles,
produção de Javier Bardem, Espanha, 2007); As Praias de Agnès (França, direção de Agnès Varda, 2009); Um Conto
Chinês (de Sebastián Borensztein, Argentina, 2011); Santiago (João Moreira Salles, Brasil, 2007); Os Incompreendidos
(François Truffaut, França, 1959).
Revista Teias v. 17 • n. 47 • (jan./mar. - 2016): Cinema e Educação em Debate 14
Ao mesmo tempo, a experimentação do cinema procurou colocar ênfase naquilo que nos
ensina Merleau-Ponty, quando ele nos diz que um filme “não deseja exprimir nada além do que ele
próprio” (MERLEAU-PONTY, 2003, p. 115). No trabalho com os jovens sobre o cinema quisemos
acentuar o valor estético de cada som, imagem e sequência; de cada disposição temporal e espacial
dos diálogos, de cada trilha sonora; em alguns casos, sublinhamos a força mesmo dos silêncios. Em
suma, importa-nos a complexidade da experiência estética, vivida diante de um filme – enfim, o
estado poético a que ela nos lança.
Trabalhando com estudantes, em sua maioria da área de Comunicação, supúnhamos que a
opção por entregar-se às imagens – e não de imediato interpretá-las e analisá-las – seria
relativamente fácil. Sucedeu que o convite a receber generosamente um filme, a impregnar-se pelo
que, nele, estabelece uma espécie de elo entre indivíduo e universo, entre “nós” e os “outros”,
pareceu um tanto estranho aos alunos das quatro turmas com quem realizamos o estudo. Como
simplesmente fruir, sem definir com clareza se algo necessariamente “significaria” isto ou aquilo?
Aos poucos, fomos nos dando conta de que também os estudantes de Comunicação, independente
de estarem cursando uma disciplina no âmbito da Pedagogia, dirigiam-se às narrativas fílmicas em
busca de interpretações imediatas (sobre o destino dos personagens, sua caracterização, a temática,
etc). Cada encontro, cada filme, cada debate punham em xeque as oposições entre pensamento e
técnica, entre forma e conteúdo. Cada nova exibição de cenas ia compondo um quebra-cabeças, um
modo distinto de “ir ao cinema”, de assistir a um filme, de ver a si mesmo, de sentir-se também
“visto” por aquilo que se viu. Gradativamente, essas “mutações” podiam ser percebidas não só nas
participações em sala de aula, como na escrita dos comentários.
Questionávamos o pressuposto segundo o qual as imagens se mostrariam como superfícies
de “decifração”; em lugar disso, buscávamos operar com novas possibilidades de olhar, que
envolviam a elaboração de outras bases para pensar o conceito de imagem – para além da mera
“expressão” de um mundo que a antecede e que lhe é exterior. Em cada aula, íamos construindo
outros sentidos para o que seria uma “ética das imagens”, operando com o que elas sugerem e
insinuam, numa convocação ao pensamento.
A PERTURBADORA ALTERIDADE: ESTRANGEIROS DE NÓS MESMOS?
Antes de falarmos sobre o tema da ética das imagens e de comentarmos excertos das
produções escritas dos estudantes, importa fazer referência ao modo como Julia Kristeva trata do
Revista Teias v. 17 • n. 47 • (jan./mar. - 2016): Cinema e Educação em Debate 15
conceito de estrangeiro – já que tal discussão permite depositar um olhar talvez mais rico em
relação não só às próprias narrativas fílmicas, como às elaborações dos alunos.
Kristeva faz um genealogia do estrangeiro, na qual, bem mais do que recuperar uma história
dos diferentes, desde a Grécia antiga, nos permite o acesso a inúmeras formas de nomear o estranho
que chega, aquele que desacomoda o instalado. Cada sociedade dirá o que fazer com o intruso, esse
que fere uma identidade já posta. Kristeva mostra as sutilezas históricas do tratamento dado ao
estrangeiro: o cosmopolitismo cristão, por exemplo, cultivou o ostracismo em relação àquele que
professava crença diferente (a Inquisição é o exemplo radical); e, na sociedade feudal, considerava-
se forasteiro aquele que “não nasceu nas terras do senhor” (KRISTEVA, 1994, p. 93). A autora
mostra o quanto por vezes as sociedades têm plena necessidade do estrangeiro; e como, em outras
ocasiões, o estrangeiro será considerado insuportavelmente “demais”.
A lembrança do que ocorre em nossos dias é imediata: os processos migratórios, em todo o
mundo, sobretudo na Europa, colocam em evidência não só problemas econômicos e sociais, mas
principalmente questões de ordem existencial e ética: afinal, o que sucede quando estamos diante
daquele que não se assemelha aos nossos pares, e que por isso nos provoca sentimentos de
desconfiança? Como percebemos em nós esse outro, que chegamos a julgar como alguém
excêntrico, inferior a nós – sobretudo porque não fala nossa língua, e nos parece totalmente
incompreensível? Como falamos dessas pessoas que às vezes nos fascinam, mas quase sempre nos
amedrontam, como se elas estivessem ameaçando nosso lugar de suposta homogeneidade?
O importante, para Kristeva, é mostrar que os atos de racismo e de xenofobia, de um lado,
de fascinação e tentativa de acolhida, de outro, poderiam ser tratados no interior de uma discussão
ética, cuja base seria, a rigor, de ordem psicanalítica. Desde Freud, sabemos que o sujeito opaco e
seguro de si não existe: ou seja, desde sempre somos aterrorizados pelo outro – o outro da morte, da
separação, do abandono; e isso está em nós mesmos, não temos como nos livrar de tais fantasmas.
Ao mesmo tempo, é isso que nos torna um outro para nós mesmos, e que nos desafia.
Nessa perspectiva, o estrangeiro – e talvez todas as presenças do diferente – nos angustia,
nos suscita terror até, possivelmente por tudo o que provoque de articulação com medos tão
profundamente humanos. Não nos interessa aqui psicologizar o tema da alteridade; desejamos
apenas ampliar a compreensão que acompanha nossos temores, diante do estranho. Interessa,
sobretudo, enfrentar nossa própria “perturbadora alteridade” (KRISTEVA, 1994, p. 201).
Revista Teias v. 17 • n. 47 • (jan./mar. - 2016): Cinema e Educação em Debate 16
Entendemos que um trabalho possível com o cinema, na educação, é o de pensar eticamente
as imagens. E o tema da alteridade, para além da existência de sujeitos estrangeiros, suscita outras
possibilidades, quando se trata de operar com imagens – no caso, imagens fílmicas. Afinal, o que
sucede a jovens de classe média, no sul do Brasil, diante de obras de cineastas iranianos, com
narrativas tão distintas daquelas às quais esses alunos estão habituados? De que modo o acesso a
esses filmes opera como um exercício de cada um sobre si mesmo?
UMA ÉTICA DAS IMAGENS?
Badiou afirma que a experiência com o cinema se constituiria também como um trabalho de
ordem filosófica. E um dos aspectos inerentes a esse acontecimento filosófico é relativo ao fato de
que, diante de um filme, vivemos um contato particular com o “outro”. Badiou argumenta que
qualquer ato filosófico exige escolhas; coloca-nos diante de situações de conflito – exigindo o
distanciamento em relação ao poder instituído; finalmente, a situação filosófica tem a ver com a
valorização da exceção, daquilo que foge ao esperado (BADIOU, 2004). Para o autor, a experiência
com o cinema aproxima-se da experimentação filosófica, pela condição de um filme ser ao mesmo
tempo arte e não-arte, objeto aproximado do cotidiano, do “comum”, e igualmente algo que se faz
disponível ao “trabalho do pensamento” (idem, p. 34).
Entendemos que o autor nos fala não só de narrativas que tratam de grandes valores
universais, mas de narrativas que remetem a situações humanas sintetizadas no tempo, operando
com promessas e milagres. Em suma, nos remetem à possibilidade de experimentar diferentes e
simultâneas temporalidades, por vezes de uma “pura duração” (p. 39); ou, então, situações de
descontinuidade e surpresa (p. 51). Em todos esses casos, a ideia de que o cinema “nos apresenta o
outro no mundo” (BADIOU, 2004, p. 56, trad. nossa).
Muitos filmes, segundo o filósofo, podem ampliar enormemente a possibilidade de
pensarmos (e entrarmos em contato com) o estranho, o estrangeiro, a alteridade – esse que não
somos nós, mas que, se acrescentarmos a perspectiva de Kristeva, também pertence a cada um de
nós. Ao invés de nos fixarmos em uma ideia de busca de identidade, assumimos – na condução da
atividade didática e na realização da pesquisa – o pressuposto de que “o cinema exige o outro”; e
que, por mais paradoxal que pareça, “o estrangeiro habita em nós; ele é a face oculta da nossa
identidade, o espaço que arruína a nossa morada, o tempo em que se afundam o entendimento e a
simpatia” (KRISTEVA, 1994, p. 9).
Revista Teias v. 17 • n. 47 • (jan./mar. - 2016): Cinema e Educação em Debate 17
Buscar a identidade seria um modo de afastar a perplexidade de nos defrontarmos com
alguém que difere de nós; é aceitar a urgência de “sujar as mãos”, envolvendo-nos com narrativas
como as de Kiarostami e de Majid Majidi – cineastas iranianos cujos filmes são marcados por uma
simplicidade que, por vezes, até nos desconcerta. Trata-se, aí, de uma espécie de luta, ao mesmo
tempo de fruição. Falamos de uma escolha, didática e investigativa, referida à experiência com
narrativas visuais, cujos criadores se oferecem a nós como combatentes; diretores que se põem
contra certas imagens, numa luta que se dá com imagens.
Não estamos afirmando que tal luta é privilégio de cineastas iranianos e da experiência que
temos com suas criações. Trata-se de enfatizar uma escolha e o quanto nela é possível exemplificar
a proposta ética de pensar a imagem como algo que nos abre para o real, no sentido apontado por
Jean-Luc Nancy (2004), para quem interessam aquelas imagens que carregam consigo a
consistência (da vida) e a resistência (à morte). Para esse autor, interessam filmes que mostram
cenas e modos de “ver” que nos capturam, que fazem do olhar dos personagens e do diretor os
nossos próprios olhares. Porque se trata não da visão, mas do olhar, nos diz Nancy. Trata-se
unicamente do olhar mesmo, de uma abertura do ato de ver a uma certa realidade para a qual nos
dirigimos, numa espécie de entrega, de deixar-se levar, de suportar um olhar em relação à
intensidade de uma evidência (idem, p. 12).
Kristeva nos convoca a problematizar a relação entre “nós” e “eles”, no presente, quando
conflitos econômicos, políticos e religiosos expõem ódios e ao mesmo tempo compaixão e
solidariedade em relação aos outros da pobreza, da profissão de fé religiosa, da miséria e da
perseguição. Ela sugere a subversão do individualismo moderno, “particularista e intransigente”,
num processo que tenderia a fazer desaparecer o cidadão-indivíduo que se via “unido e glorioso”,
para afinal assumir, ele mesmo, suas próprias estranhezas. A questão que se colocaria agora é “não
mais a da acolhida do estrangeiro no interior de um sistema que o anula, mas a da coabitação desses
estrangeiros que todos nós reconhecemos ser” (KRISTEVA, 1994, p. 10).
O cuidado de não fixar nem coisificar o outro – mas apenas “roçar” sua estranheza, como
poeticamente sugere Kristeva – ajuda-nos na condução da pesquisa, incentivando-nos a insistir na
relevância de nos prepararmos ética, estética e politicamente, com relação a esse tema, com o qual
todos nos defrontamos: os ódios e os fardos gerados por dentro daquilo que insiste em ser diferença,
em ser não-conformidade com o que somos – trate-se de estranhezas quanto a uma certa
nacionalidade, trate-se de estranhezas que marcam determinadas condições de vida, em termos
econômicos, sociais, geracionais, de orientação sexual e de raça, e assim por diante.
Revista Teias v. 17 • n. 47 • (jan./mar. - 2016): Cinema e Educação em Debate 18
A experimentação de narrativas fílmicas estranhas ao grupo participante operou quase como
metáfora para todas as diferenciações vividas, num trabalho que permitiu o acesso a um sem-
número de formas de contar algo, na linguagem do cinema, a formas visíveis e “sentidas” em
rostos, tempos, conflitos, diálogos, paisagens e travessias. Tínhamos ali um convite claro e sensível
a não nivelar alteridades, muito menos a esquecê-las; pelo contrário, um convite a multiplicar ao
máximo todas as estranhezas possíveis, na sua mais completa pungência, sem buscar finalidades,
explicações ou limites, por exemplo, daquela narrativa, daquele personagem, das possíveis
intenções do cineasta. O que se queria era apenas dizer que esse “algo a mais”, visível naquilo que
difere, pode configurar-se como um ponto de partida para pensar a nós mesmos, no sentido
proposto pelos filósofos antigos e estudado por Foucault em seu curso A hermenêutica do sujeito
(FOUCAULT, 2004b). Kristeva, por sua vez, nos ajuda a imaginar formas atualizadas do “cuidado
consigo” grego, ao sugerir que, em relação ao estrangeiro, não seria suficiente o desenvolvimento
da aptidão de “aceitar o outro”, mas de dispor-se a estar no seu lugar, ao ponto de cada um, nesse
gesto, pensar sobre si e “se fazer outro para si mesmo” (KRISTEVA, 1994, p. 21).
Rancière é inspiração para todo o trabalho que realizamos com os estudantes, a partir do
cinema, no sentido de uma prática estética, profundamente política e ética. Ele nos fala de modos de
recortar tempos e espaços, de tratar o visível e o invisível, “da palavra e do ruído”, que estariam em
jogo na política “como forma de experiência” (RANCIÈRE, 2009, p. 16-17). Sim, nos encontros
com os estudantes continuamente nos entregávamos a formas de visibilidade da arte (do cinema) e
nos indagávamos sobre o que aquelas imagens fazem conosco; de que modo nos convidam a uma
partilha do sensível e da formação de nós mesmos, em relação ao outro e ao mundo.
Entendemos, além disso, que os estudos de Didi-Huberman complexificam a discussão que
fazemos sobre o tema da arte, articulado ao da alteridade no cinema; ele propõe um “trabalho
dialético” com e sobre as imagens, o que, a nosso ver, ajuda a pensar com maior consistência os
escritos dos alunos e os debates ocorridos. O autor fala no desdobramento das imagens, na sua
multiplicação, como se ela também, de alguma forma, se fizesse “estranha”, estrangeira a ela
mesma. Trata-se de não confundir os fatos com o fetiche, o arquivo com as aparências, o trabalho
com a manipulação, a montagem com a mentira, o parecido com a assimilação. Ele nos diz: “A
imagem não é nem nada, nem tudo; também não é uma nem mesmo duas. Ela se desdobra segundo
um mínimo de complexidade, com dois pontos de vista que se enfrentam sob o olhar de um
terceiro” (DIDI-HUBERMAN, 2004, p. 221, trad. nossa, grifos do autor).
Revista Teias v. 17 • n. 47 • (jan./mar. - 2016): Cinema e Educação em Debate 19
Temos aqui a proposta de enfrentar as imagens – ideia que associamos à de Kristeva, quanto
ao enfrentamento de nós mesmos, na medida em que nos afirmamos na condição de estar no lugar
do outro. Didi-Huberman lembra que “Todo ato criador contém uma ameaça real para o homem que
ousa empreendê-lo, e é nesse sentido que uma obra interessa ao espectador ou ao leitor” (idem, p.
22, trad. nossa). Ora, enfrentar o outro, abrir-se a ele de modo radical, ao ponto de afirmar-se
também como estrangeiro para si mesmo – isso também pode ser ameaçador. Porém, na medida em
que nos deixamos paralisar pelo que nos amedronta, negando, por exemplo, nossas próprias
estranhezas, ou nos eximindo de exercer uma certa força sobre o que vemos nas imagens – talvez
nos façamos bem mais frágeis e inclusive expostos às brutalidades de nosso tempo.
Os estudos de Didi-Huberman sobre o tema da ética das imagens têm orientado a pesquisa,
bem como as análises sobre os modos de recepção dos estudantes aos filmes que lhes parecem tão
“estranhos”. O autor não separa o cuidadoso olhar em relação à materialidade das os grandes
males (como o horror nazista, matriz dos tantos horrores relacionados à rejeição dos “outros”).
Apesar de saber da impossibilidade total do “acesso ao real”, o convite é o de “compreender, apesar
de tudo” (idem, p. 226). O estudo das imagens, nessa perspectiva, configura-se como um trabalho
ético: mesmo que saibamos que as coisas, “como são”, seriam praticamente “indizíveis”,
inimagináveis, essa constatação não pode ser vista unilateralmente. Melhor dito: é preciso trabalhar
com esses fatos e com essas imagens, de maneira a imaginar o inimaginável, a dizer o indizível,
fazendo assim, do agora dizível e imaginável, uma tarefa infinita, necessária e forçosamente
incompleta (DIDI-HUBERMAN, 2004).
O trabalho ético com as imagens partiria do fato que, mesmo sabendo de antemão que há
uma impossibilidade de representar a realidade, de mostrar as coisas “como elas são”, isso não nos
conduz a uma posição cômoda de aceitar que alguns objetos ou fatos seriam impossíveis de serem
de algum modo transformados em imagens, sons e palavras. “As imagens se tornam preciosas para
o saber histórico no momento em que se põem em perspectiva, a partir de montagens inteligíveis”
(DIDI-HUBERMAN, 2004, p. 232, trad. nossa).
A escolha de filmes como os de Kiarostami, Majidi e Satrapi, objeto da pesquisa discutida
neste artigo, insere-se na perspectiva aberta por Didi-Huberman, e que relacionamos ao que nos
dizem Kristeva (sobre o tema do estrangeiro) e Foucault (sobre o preceito do “cuidado consigo” e
uma estética da existência). Entendemos que certas imagens e certo modo de construir cenas e
cenários inusitados, “estranhos”, podem constituir matéria viva articulada a modos de existência,
num convite a nos tornarmos melhores – na perspectiva dos filósofos estudados por Foucault
Revista Teias v. 17 • n. 47 • (jan./mar. - 2016): Cinema e Educação em Debate 20
(2004b; 2004a). O instigante debate do pensador, sobre formação ética e estética de si (que ele
chamou de uma “prática refletida de liberdade”), constitui para nós matéria da maior urgência. E se
articula harmoniosamente com os demais autores aqui citados, no sentido de que em nossos tempos
haveria uma urgência em pensarmos sobre o cuidado ético de si mesmo, o qual, necessariamente,
implica relações complexas com a alteridade, já que o “êthos da liberdade é também uma maneira
de cuidar dos outros” (FOUCAULT, 2004a, p. 270).
Buscamos filmes que, a nosso ver, oferecem a imagem do humano, malgré tout; que nos
incitam a um reconhecimento do nosso semelhante, que nos convidam e pensar e a colocar nosso
pensamento “em outra parte”, de um outro modo.
OS CLICHÊS E AS SURPRESAS: NÓS E OS OUTROS
“Apesar de pobre, a família permanece honesta” / “Mesmo diante das dificuldades, o pai de
Ali e Zahra não pega o açúcar da mesquita, mesmo precisando, pois [aquele açúcar] é sagrado e lhe
foi confiado” (Aluna 1, 2014/1). Filhos do Paraíso, de Majid Majidi, foi visto por todos os
estudantes da pesquisa, e está entre os filmes mais apreciados por eles 4. Os dois excertos sintetizam
de maneira exemplar o que ocorreu nas quatro turmas: os alunos viviam a estranheza de um tipo de
narrativa desconhecida deles, ao mesmo tempo que repetiam clichês sobre pobreza, educação e
infância. O “outro” iraniano era imediatamente incorporado a um eu supostamente homogêneo,
capaz de separar com facilidade o “nós” e o “eles”.
Os estudantes falaram em aula da tristeza dos personagens, de as crianças não viverem uma
infância de fato e de elas serem muito maltratadas pelos adultos; comentaram sobre esse mal-estar
também em seus textos. Replicaram dualidades-clichês (é pobre, mas é honesto – por exemplo);
fizeram referência à baixa qualidade de vida daquelas famílias, como se aquilo fosse apenas a
realidade de “lá”, do Irã. Ao mesmo tempo, muitos deles trouxeram para o debate o fato de terem
sido surpreendidos pelo inusitado das situações: um menino profundamente preocupado com a
escola e com o dano causado à irmã; a plena cumplicidade entre as duas crianças; a total fidelidade
do pai aos princípios éticos assumidos, envolvendo suas práticas religiosas. Para os estudantes,
tratava-se de algo absolutamente incomum, quase irreal. Mais surpreendente ainda foi, para eles, a
luta do menino Ali para alcançar numa corrida o terceiro lugar (não o primeiro), já que o prêmio
4
Sobre esse filme temos 130 comentários, sempre redigidos à mão pelos alunos, no final dos debates e da exibição de
cenas selecionadas.
Revista Teias v. 17 • n. 47 • (jan./mar. - 2016): Cinema e Educação em Debate 21
menor seria exatamente um par de tênis. As frequentes frustrações narradas desacomodam os
alunos – que se veem num mundo absolutamente distinto do seu.
“Os dois buscam refúgio um no outro, e é nesse espaço que eles mais conseguem ser
crianças: experimentar o mundo, descobri-lo, divertir-se com ele” – escreve outra aluna, apontando
não para as dualidades, mas para a mais singela diferença referida ao mundo infantil, independente
da nacionalidade das personagens em jogo (Aluna 2, 2014/1). A “montagem inteligível”, alcançada
pelo diretor, nos coloca diante de uma cena perfeitamente compreensível e aberta ao trabalho e à
sensibilidade de qualquer espectador. A ternura da antológica cena dos irmãos, na cumplicidade dos
olhares e do diálogo escrito nos cadernos escolares, no texto em off, simultâneo à dura conversa dos
pais, impõe-se e faz um contraponto ao ritmo ofegante e tenso das idas e vindas do menino e da
menina, entre a casa e a escola. A maioria dos comentários recolhidos refere essa cena, como bela e
comovente, ainda que alguns insistam: para estes, Ali sente-se culpado e por isso teria presenteado a
irmã com um lápis novo. Seria uma espécie de “chantagem”, para que a menina Zahra não contasse
a verdade aos pais, sobre o sapato perdido pelo irmão.
Esses fragmentos de comentários vão nos mostrando as oscilações no processo de
enfrentamento de “ser de outro modo”, não exatamente por se tratar da figura de uma criança
iraniana, mas pela exposição daquele modo de vida distinto, que comove pelo que significa como
acontecimento, como ruptura em relação ao corriqueiro e como convite a um gesto de genuína
cumplicidade fraterna. Mas que, em alguns momentos, parece que, por se instaurar como pura
diferença, nos amedronta, como se houvesse ali a intrusão de um estrangeiro, que ameaça a frágil
tranquilidade de um sujeito (nós mesmos), supostamente homogêneo em sua existência.
Em que consiste essa surpresa pelo “inusitado”, à qual nos remetemos, ou mesmo a algo
entendido, pelos alunos, no limite do “irreal”? Significa ver, no “mesmo”, a diferença – daí, talvez,
o estranhamento. A aceitação da infância em Filhos do Paraíso (e, igualmente, em Onde Fica a
Casa do Meu Amigo?) implica o despojamento das referências que, tão confortavelmente, temos –
as referências da criança como projeto, como promessa (de um mundo melhor) são aqui
suspendidas em prol daquela em sua “imediatitude” (immédiateté), como diria Ishagpour (2004):
não o grande projeto, a grande solução, mas ganhar um par de tênis, devolver um caderno, e dali,
apenas e tão-somente, seguir suas vidas. De modo algum isso supõe uma redução ou uma limitação
do conceito de infância, mas a imersão, em nada tranquila, num universo do singelo – em sua
complexidade e mistério, em seu caráter de enigma e, acima de tudo, de imprevisibilidade. Pode-se
pensar, a partir disso como, no jogo dinâmico que nos liga à imagem, que um sentido de estrangeiro
Revista Teias v. 17 • n. 47 • (jan./mar. - 2016): Cinema e Educação em Debate 22
apenas “roça” (como sugere Kristeva) em nós. A criança aqui emerge como “estrangeira” não
apenas porque tramada por um filme iraniano; ela se faz estrangeira em nós, no espaço de um entre:
entre aquele que se faz visível e que nos permite uma primeira identificação e aquele, outro, que
justamente nos situa fora das lógicas e redes de inteligibilidade das quais dispomos.
Filmes como Persépolis, feito em animação e em preto e branco, a partir de um livro em
quadrinhos de Marjane Satrapi, permitiram às diversas turmas a elaboração de um exercício em que
procuramos nos aproximar dos próprios processos criativos em jogo. A linguagem da graphic
novel, a adaptação inventiva para a estética do cinema, os bem-humorados e delicados efeitos de
passagem das cenas na animação, tudo isso nos mostra de que modo os criadores operaram com
imagens-resto, com farrapos de imagens, montadas e remontadas para o espectador, sem jamais
atingirem a condição de “imagens totais”. Tudo ocorre na composição das sequências de
Persépolis, sem que sejamos restituídos a um continuum da vida, das coisas, dos espaços e das
épocas – modos de elaborar imagens que acabam por expulsar o pensamento.
Um dos estudantes, talvez entusiasmado por questões como essas, discutidas em sala de
aula, concentrou-se ao final do encontro e escreveu:
A problemática que envolve a diferença parece menos ser um tema e mais uma atitude possível
sustentada diante desse assunto. A diferença parece não agir no âmbito meramente do
conhecimento, mas no corpo como um todo. Diante de uma insuportável possibilidade de dar
abertura ao outro somos atravessados simultaneamente, por força contíguas e centrípetas que
não nos conduzem a lugar algum, apenas demarcam o movimento oscilante de pensarmos fora
de nosso pensamento e racionalidade. O filme, com suas imagens sobrepostas, não situa, mas
nos convida a observar o mesclar dos diferentes outros. (Aluno 3, 2014/1)
Para outra aluna, a história autobiográfica de Marjane chama a atenção pela presença da
religião como verdade absoluta, na vida daquelas pessoas. Ela escreve: “Aqueles que fossem para a
guerra seriam recompensados com uma ‘chave para o céu’, as mulheres usam véu demostrando sua
‘liberdade’ ao ‘proteger-se’ dos olhares dos homens, sem falar nas inúmeras situações que são
justificadas por um ‘Deus quis assim’ ”. A estudante refere que Marjane é uma contestadora, pensa
por si mesma e por isso precisa deixar o Irã. E conclui: “Apesar de querer retornar, Marjane acaba
tornando-se estrangeira em seu próprio país”. (Aluna 4, 2014/2)
No decorrer de todos os semestres, à medida que os alunos participavam dos encontros,
assistiam aos filmes, debatiam e escreviam sobre eles, por nossa insistência passaram a elaborar
textos em que os elementos da linguagem do cinema aparecem com mais frequência e densidade. O
Revista Teias v. 17 • n. 47 • (jan./mar. - 2016): Cinema e Educação em Debate 23
curioso é que tais elaborações contribuíram para o próprio debate sobre o tema central da alteridade.
Um dos estudantes acentua a importância de Persépolis consistir em uma “animação simples, sem
cor, mas ao mesmo tempo muito impactante”. Ele continua:
Também é incrível como os elementos visuais nos fazem “viajar” junto com a Marje, numa
mistura de lirismo e psicodelia. Nesse sentido, me chamam a atenção as cenas em que o tio
conta a ela sobre sua vida de militante e a história de que a avó usa as flores no sutiã,
aparecendo aquelas flores descendo na tela – quase que como pudéssemos sentir o seu cheiro;
ou a parte em que, numa depressão profunda, [Marje] acaba ingerindo vários comprimidos, nos
dando a sensação de mal-estar; até encontrar Deus e Marx num completo devaneio de seus
sonhos. (Aluno 5, 2015/1)
No debate, os contrastes entre Oriente e Ocidente, capitalismo e islamismo, Europa e Irã,
mulheres subservientes e mulheres afinadas com as conquistas feministas, jovens e idosos – todas
essas marcas de alteridade estiveram presentes, e depois, como no caso desse aluno, foram
assinaladas em sua escrita, basicamente com referência a elementos específicos de linguagem
audiovisual.
Um dos comentários mais criativos registrados na pesquisa é o de uma aluna que, após
assistir ao filme Onde Fica a Casa do Meu Amigo?, ao final do debate, entregou um texto escrito na
forma de um grande Z, que atravessa a página de papel. Ela se explica, antes: “Já que o filme foi
gravado sem decupagem, pensei: por que não escrever o texto sobre ele de outra forma?”. Seu texto
registra:
No local de estudos das crianças a disciplina é quase lei. O menino protagonista entende seus
deveres, tanto escolares quanto morais e éticos. Com isso, e na jornada de entregar o caderno
ao amigo é que ele nos envolve (e se envolve). Como na estrada daquele morrinho que por
vezes ele corre, em formato de Z; “z” de zigue-zague talvez, representando a ligação (e
nuances) que se têm – diante de situações diversas – com a vida.
Acredito que o design tenha atrapalhado um pouco a leitura, e foi proposital. Justamente para
mostrar que a vida é mesmo assim, “cenas” não tão fáceis de decifrar e encarar, cheia de idas e
vindas, obstáculos e desafios.
Porém, esse Z de “zica” de “zebra”, que muitas vezes representa algo ruim, pode se
transformar em um Z de “zelo”, por exemplo, tendo significado positivo. Assim como a
mensagem zelosa proposta pelo filme.
P.S.: desculpa não ter escrito texto dessa vez, mas foi o próprio longa que me motivou a ousar.
(Aluna 6, 2015/1)
Revista Teias v. 17 • n. 47 • (jan./mar. - 2016): Cinema e Educação em Debate 24
Esse filme, entretanto, foi um dos menos apreciados. A “lentidão” das cenas tornou-se para
muitos absolutamente insuportável. Alguns estudantes incomodaram-se com as exigências de
disciplina e o rigor imposto pelo mundo adulto às crianças, especialmente o modo como o
personagem Ahmad não teve escuta, durante toda a história. A estranheza manifestada pelos alunos,
em relação ao filme de Kiarostami, se dá pelo fato de os adultos não conseguirem entender o
menino, o qual se vê condenado a repetir em vão suas perguntas. Bergala nos fala de uma
perturbadora pedagogia, presente na obra do cineasta iraniano: para se salvar, talvez seja melhor
não se adaptar demais. É preciso sair, explorar os espaços estrangeiros, cujos mapas nem sempre
conhecemos. É preciso aprender a necessária reversibilidade de tudo nesta vida (cfe. BERGALA,
2004).
Importante marcar esses contrastes, nos modos de recepção ao filme: o convite a entregar-se
ao diferente por vezes mostra-se tão indesejável, como sucede àquele estrangeiro que adentra nosso
mundo e incomoda pela voz, pela entonação, pela dificuldade de mútuo entendimento, pelo que
dele se instaura em nós como desagrado e incompreensão. Não se questiona aqui o direito e a
possibilidade de não nos agradar uma certa narrativa. Chamamos a atenção, sim, para esta questão:
afinal, como o cinema pode nos mover a pensar o outro no tempo do nosso próprio pensamento,
como nos provoca Foucault em vários de seus textos?
Kiarostami faz um cinema “da revelação das coisas, da epifania do real”, semelhante ao ato
criativo de Rossellini; haveria uma “fórmula Kiarostami”, de fusão entre “documentário e ficção,
transparência e dispositivo, apreensão bruta do real e cinema-pensamento, realidade e abstração,
realismo e fantástico, física e metafísica, tradição e vanguarda, Oriente e Ocidente” (BERGALA,
2004, Introdução, trad. livre5). Essas opções de linguagem e de realização cinematográfica
mostram-se plenamente propícias à relação com o “outro”.
Na obra Cópia Fiel, a problematização de se dá em torno do que seria “arte verdadeira” e do
que seria uma “cópia”; onde estaria a genuína autenticidade? Poderíamos estender essa questão ao
tema que aqui nos ocupa, sobre como, por vezes, nos construímos na condição de “verdadeiros”, em
oposição ao outro, supostamente menos “real”, menos “inteiro”; mais “sujo”, talvez. Boas sínteses
foram elaboradas pelos estudantes, como esta:
O roteiro se trata de Elle, francesa que possui uma galeria de arte na Itália, que tendo
conhecido James Miller através da palestra sobre seu livro, o convida para um passeio. É no
5
O livro de Bergala, sobre Kiarostami, está sendo traduzido pela equipe de pesquisa, para uso interno, com a
colaboração especial de Laura Schuch (ver BERGALA, 2004).
Revista Teias v. 17 • n. 47 • (jan./mar. - 2016): Cinema e Educação em Debate 25
início desse passeio, no carro de Elle, que pode ser exemplificada a excelente estrutura técnica
e de imagem do filme: há o posicionamento da câmera de forma que a paisagem local seja
refletida pelo vidro da frente do carro, como se o público estivesse no ângulo de visão de
qualquer transeunte, mas essa dimensão é quebrada, quando as personagens se entreolham e
iniciam um diálogo mais pessoal, de forma que as imagens passam a ser captadas na parte
interna do veículo e deixa de existir o vidro entre o público e os personagens.
As locações perfeitas, os enquadramentos precisos, os movimentos de câmera seguros e os
diálogos ágeis dão ao filme uma fluidez que cativa o espectador e o conduz por uma narrativa
que seria, às vezes, encarada como esquizofrênica. (Aluno 7, 2014/2)
Importante registrar o quanto, nos comentários sobre Cópia Fiel, os elementos propriamente
de linguagem cinematográfica foram acentuados. Um dos alunos escreve que Kiarostami, nesse
filme, “faz uso dos mais diversos objetos e técnicas que dão à trama um caráter verossímil do real”.
E observa:
Dos espelhos ou reflexo dos vidros do carro (reflexos portanto do real) à forma como os
diálogos são construídos, dos acontecimentos corriqueiros (como o momento em o casal de
encontra no carro e alguém atravessa a rua) aos cortes de cena que promovem uma linearidade.
Tudo parece ser pensado de maneira a aproximar o cinema, uma forma de arte, do real,
promovendo um estreitamento entre o espectador e o que acontece.
[...]
A emblemática cena em que o personagem central da trama se depara com um casal que
aparentemente discutia – quando na verdade o marido, à frente da mulher, falava ao telefone –
se contrapõe ao momento de contemplação artística, em que uma outra personagem dá a uma
estátua diferentes significados, que variam com diferentes situações. Isso exemplifica e
sustenta a ideia de que o significado que damos a algo é construído individualmente e que
independe da genuinidade da obra, mas da impressão que temos dela e da instrumentalização
que damos a ela. (Aluno 8, 2014/2)
A respeito desta obra, houve considerável controvérsia, justamente pelo inusitado das
escolhas de realização, por parte do diretor. Vários alunos estranharam a narrativa e manifestaram
dificuldade em acompanhar as cenas. Ao mesmo tempo, registraram a relevância do debate em aula,
para um novo “enfrentamento” daquelas imagens:
O filme Cópia fiel se fez mais claro com a discussão em aula, pois, sinceramente, não havia
entendido a narrativa, fiquei com a impressão de “preciso assistir de novo pra entender”.
Contudo, ao longo da discussão em aula, percebi que era exatamente isso: a subjetividade de
uma narrativa não-linear a qual não é comum no cinema. Percebi também o quanto nosso olhar
está acomodado às narrativas comuns: apresentação dos personagens em determinado
ambiente, um “problema” que surge, a tentativa de resolução do “problema”, a enfim resolução
Revista Teias v. 17 • n. 47 • (jan./mar. - 2016): Cinema e Educação em Debate 26
do “problema” e final. O filme apresentado sai desta padronização cinematográfica a qual
estamos acostumados e talvez por isso o estranhamento de várias pessoas para com o filme.
(Aluna 9, 2014/2)
Novamente, então, retomamos a ideia da potência da imagem quando lançada ao exterior da
ordem da significação. O diálogo que se operava em sala de aula não visava, obviamente, dirimir os
supostos sentidos que irradiavam das imagens, nem daqueles derivados das impressões e
depoimentos dos alunos, mas implicava, antes, uma tentativa de “multiplicar” as imagens: ver
várias, quando se pensava ter visto uma – ora, é isso que se supõe, muitas vezes, ao dialogar sobre
os filmes: compartilhar imagens, as “mesmas” e, mesmo assim, tão diferentes. Entendemos,
portanto, que a imagem talvez se faça mais potente quando permanece na qualidade de rastro, de
ruído, de estranhamento, e por isso mesmo nos convoque a vê-la, inclusive mais uma vez.
CONCLUSÃO: SOBRE A TAREFA INFINITA COM AS IMAGENS
A cada encontro, a cada filme visto e debatido, a cada comentário registrado e devolvido aos
alunos, com observações diversas, reiteramos o acolhimento do convite de Didi-Huberman: o de
que insistamos no estudo das imagens como um trabalho ético, no sentido de que partir das
imagens, falar delas, estudá-las – esse trabalho tem a ver com a abertura à possibilidade de
“imaginar o inimaginável”.
Nas criações de cineastas iranianos nos encontramos com uma simplicidade que nos
mobiliza e nos faz entrar num embate político ético com cada um de nós e com o outro. Ao mesmo
tempo, temos uma forte experiência de fruição estética. Kiarostami, Majidi e Satrapi “lutam” com
imagens. Colocam-nos no âmago do debate contemporâneo sobre alteridade, sobre os novos modos
de ser e estar estrangeiro.
Neste artigo, trouxemos a discussão de uma das etapas da investigação que inclui a
experimentação de um conjunto de filmes, em sua maioria desconhecidos por aqueles estudantes
universitários. Expusemos tópicos de vetores teóricos da pesquisa – com autores como Didi-
Huberman, Nancy, Kristeva, Bergala e Foucault. Trechos de comentários elaborados pelos alunos,
ao vivo e manuscritos, em sala de aula, registram formas de movimentar o pensamento a partir da
exibição de filmes e da realização de debates.
Um aluno do curso de Pedagogia, após o debate sobre o filme Onde Fica a Casa do Meu
Amigo?, escreveu: “Gostei bastante deste filme. Estou tomando um gosto pelos filmes iranianos”.
Revista Teias v. 17 • n. 47 • (jan./mar. - 2016): Cinema e Educação em Debate 27
Ao final de seu comentário, registrou: “Expectativa pelos próximos que virão”. Entendemos que
esse estudante, como outros participantes, escutou o convite à partilha do sensível, às discussões
que apontam bem mais para os desvios, os mistérios e o “dom da poesia”, do que exatamente para a
supremacia da lógica racional. Labirintos, lugares míticos, aprendizado da vida e da simplicidade,
cenas em que enfrentamos nossos duplos, o outro em nós mesmos e a radical solidão humana –
esses são elementos a que tivemos acesso pelos filmes iranianos discutidos neste artigo e
experimentados intensamente com os jovens estudantes.
REFERÊNCIAS
BADIOU, A. El cine como experimentación filosófica. In: YOEL, G. (Comp.) Pensar el cine 1. Imagen, ética y
filosofia. Buenos Aires: Manantial, 2004, p. 23-81.
BERGALA, A. Abbas Kiarostami. Paris: Cahiers du Cinéma, 2004.
DIDI-HUBERMAN, G. Imágenes pese a todo. Memoria visual del holocausto. Barcelona: Paidós, 2004.
FOUCAULT, M. A ética do cuidado de si como prática de liberdade. In: ______. Ética, Sexualidade, Política. Ditos &
Escritos V. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004a, p. 264-287.
FOUCAULT, M. A hermenêutica do sujeito. São Paulo: Martins Fontes, 2004b.
ISHAGHPOUR, Y. Historicité du cinéma. Farrago: Paris, 2004.
KRISTEVA, J. Estrangeiros para nós mesmos. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.
MERLEAU-PONTY, M. O cinema e a nova psicologia. In: XAVIER, Ismail. (Org.) A experiência do cinema:
Antologia. Rio de Janeiro: Graal, 2003. p. 101-117.
NANCY, Jean-Luc. L’evidenza del film. Roma: Donzelli, 2004.
RANCIÈRE, J. A partilha do sensível. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2009.
Revista Teias v. 17 • n. 47 • (jan./mar. - 2016): Cinema e Educação em Debate 28
RESUMO
Neste texto, discutimos relações entre alteridade, ética e imagem, a partir de dados de uma pesquisa sobre
cinema e educação. Tratamos do conceito de estrangeiro, de Julia Kristeva, e da articulação do pensamento
de Alain Badiou, Michel Foucault e Didi-Huberman, em torno da experimentação filosófica com imagens.
Fazemos referência a comentários escritos de estudantes universitários, elaborados a partir da experiência
com filmes dos cineastas iranianos Abbas Kiarostami, Majid Majidi e Marjane Satrapi. Aponta-se no artigo a
relevância das formas de mobilização dos estudantes, no processo de elaboração ética de si mesmo e de
enfrentamento do outro, por meio do cinema.
Palavras-chave: Cinema; Alteridade; Estrangeiro; Imagem; Formação Ético-Estética
THINK THE OTHER IN CINEMA: TOWARDS AN ETHICS OF IMAGES
ABSTRACT
In this paper, we discuss relations between otherness, ethics and image, based on data from a research
project on cinema and education. We use Julia Kristeva conceptualization about foreign, and the discussions
from Alain Badiou, Michel Foucault and Didi-Huberman, about an image philosophical experimentation. In
particular, this assemblage of concepts offers a vantage point to understand the written comments from
college students, drawn from their experience with Iranian films directors Abbas Kiarostami, Majid Majidi and
Marjane Satrapi. Finally, in this work, we also addresses the relevance of a discuss mobilization of the cinema
image with students in the process of confronting the Other, and their “ethical self-constitution”, in
Foucauldian terms.
Keywords: Cinema; Alterity; Foreign, Image, Ethical and Aesthetical Constitution.
Submetido em nov 2015
Aprovado em jan 2016
Revista Teias v. 17 • n. 47 • (jan./mar. - 2016): Cinema e Educação em Debate 29
Você também pode gostar
- Historia e Cinema Uma Leitura Teorica de O Pequeno Principe PDFDocumento10 páginasHistoria e Cinema Uma Leitura Teorica de O Pequeno Principe PDFUNIVERSESTADUGOIMORRINHOAinda não há avaliações
- A Bíblia Sagrada: Uma coleção de livros inspiradosDocumento9 páginasA Bíblia Sagrada: Uma coleção de livros inspiradosLaury de JesusAinda não há avaliações
- Cinema Do Entretenimento À Prática SocialDocumento14 páginasCinema Do Entretenimento À Prática SocialThais BotelhoAinda não há avaliações
- Literatura e cinema: linguagens distintas, leituras diversasDocumento14 páginasLiteratura e cinema: linguagens distintas, leituras diversasThaize OliveiraAinda não há avaliações
- Cinema Universidade Perspectivas DebatesDocumento4 páginasCinema Universidade Perspectivas DebatesAndressa RickliAinda não há avaliações
- O Cinema Na Didática Da FilosofiaDocumento16 páginasO Cinema Na Didática Da FilosofiaSérgio LagoaAinda não há avaliações
- Os Limites Do Humano Na Representacao Cinematografica de Tiros em Columbine e Precisamos Falar Sobre KevinDocumento10 páginasOs Limites Do Humano Na Representacao Cinematografica de Tiros em Columbine e Precisamos Falar Sobre KevinEmily Brenneisen RoquiniAinda não há avaliações
- Curso1 - Cine e Genero - 16 - 11 - Labfemi - 2022Documento8 páginasCurso1 - Cine e Genero - 16 - 11 - Labfemi - 2022Lucas LealAinda não há avaliações
- Saltoparaofuturo CinemaeeduDocumento38 páginasSaltoparaofuturo CinemaeeduOazinguito FerreiraAinda não há avaliações
- Cinema de Ficção e Não-Ficção - CompletoDocumento41 páginasCinema de Ficção e Não-Ficção - CompletoTaís Monteiro100% (1)
- O que é o DocumentárioDocumento11 páginasO que é o DocumentárioKit Menezes100% (1)
- Trabalho Ev111 MD1 Sa8 Id1382 27052018212132Documento12 páginasTrabalho Ev111 MD1 Sa8 Id1382 27052018212132qualquerumaconta915Ainda não há avaliações
- Entre os Muros da EscolaDocumento17 páginasEntre os Muros da Escolampetrini31Ainda não há avaliações
- Afectos PictóricosDocumento20 páginasAfectos PictóricosLucas MurariAinda não há avaliações
- Como o cinema se relaciona com a vida e a educaçãoDocumento3 páginasComo o cinema se relaciona com a vida e a educaçãoLívia FariasAinda não há avaliações
- A Noetica Do Video EtnograficoDocumento20 páginasA Noetica Do Video EtnograficoPatrícia Jeanny de Araújo Cavalcanti MedeirosAinda não há avaliações
- A Emergência Dos Gêneros No Cinema Brasileiro - Do Primeiro Cinema Às Chanchadas e PornochancadasDocumento19 páginasA Emergência Dos Gêneros No Cinema Brasileiro - Do Primeiro Cinema Às Chanchadas e PornochancadasMarcioMarkendorfAinda não há avaliações
- Cinema na EducaçãoDocumento4 páginasCinema na EducaçãoEdgar BarraAinda não há avaliações
- Cine MonstroDocumento27 páginasCine MonstroamandamansurAinda não há avaliações
- Artigo TomboyDocumento20 páginasArtigo TomboyMárcio Neman PandaAinda não há avaliações
- Luz, câmera e história: Práticas de ensino com o cinemaNo EverandLuz, câmera e história: Práticas de ensino com o cinemaAinda não há avaliações
- Docudrama quando o real se transforma em ficcionalDocumento10 páginasDocudrama quando o real se transforma em ficcionaljlucastvrsAinda não há avaliações
- Migliorin PDFDocumento14 páginasMigliorin PDFDavid DamascenoAinda não há avaliações
- 1 SMDocumento14 páginas1 SMAndreane LeiteAinda não há avaliações
- Análise do filme Avatar sob a lente da complexidadeDocumento14 páginasAnálise do filme Avatar sob a lente da complexidadeAndreane LeiteAinda não há avaliações
- Cinema MemóriaDocumento22 páginasCinema MemóriaMEIO ECIAinda não há avaliações
- Sociologia e Cinema: ResenhaDocumento6 páginasSociologia e Cinema: ResenhaGabrielly Caroline CarvalhoAinda não há avaliações
- Leitura de desenhos animados e videoartes: uma análise semióticaDocumento15 páginasLeitura de desenhos animados e videoartes: uma análise semióticaAna CamilaAinda não há avaliações
- Filme AlexandriaDocumento5 páginasFilme AlexandriaLucca PontesAinda não há avaliações
- Habitar Um Instante - Sábado À Noite, de Ivo Lopes AraújoDocumento109 páginasHabitar Um Instante - Sábado À Noite, de Ivo Lopes AraújoPedro FreitasAinda não há avaliações
- A Subversão Do Tempo E Do Espaço No Cinema: Uma Proposta Interdisciplinar para O Ensino Da FísicaDocumento9 páginasA Subversão Do Tempo E Do Espaço No Cinema: Uma Proposta Interdisciplinar para O Ensino Da FísicaMathias ReisAinda não há avaliações
- A Ética Do Documentário-O Rosto e Os Outros PDFDocumento16 páginasA Ética Do Documentário-O Rosto e Os Outros PDFMARIA JULIA BOMILCAR DE FREITAS ANDRADEAinda não há avaliações
- Ensino de História e cinema formando consciênciasDocumento11 páginasEnsino de História e cinema formando consciênciasernandobritoAinda não há avaliações
- Monografia UEMA BRUNADocumento36 páginasMonografia UEMA BRUNABruna GomezAinda não há avaliações
- Os Diferentes Olhares Da Filosofia Sobre o Cinema - RUA Revista UniversitáriaDocumento10 páginasOs Diferentes Olhares Da Filosofia Sobre o Cinema - RUA Revista UniversitáriaMateus Filipe Pereira PrimoAinda não há avaliações
- 2008.GT3 Adriane Camilo OkDocumento12 páginas2008.GT3 Adriane Camilo OkGeovanna SouzaAinda não há avaliações
- Cinema como veículo de reflexão socialDocumento8 páginasCinema como veículo de reflexão socialGuilherme GnipperAinda não há avaliações
- EDUCAÇÃO E PSICODRAMA Possíveis Práticas de SingularizaçãoDocumento13 páginasEDUCAÇÃO E PSICODRAMA Possíveis Práticas de SingularizaçãoaparecidalopesAinda não há avaliações
- SALVIA. As Possibilidades Do Cinema No Ensino Das HumanidadesDocumento23 páginasSALVIA. As Possibilidades Do Cinema No Ensino Das HumanidadesVitor Martins MenezesAinda não há avaliações
- 2641-Texto Do Artigo-4378-1-10-20171222Documento8 páginas2641-Texto Do Artigo-4378-1-10-20171222Jorge LiraAinda não há avaliações
- Dialnet ODocumentarioPerformatico 4134055Documento21 páginasDialnet ODocumentarioPerformatico 4134055Guilherme Vassoler GarciaAinda não há avaliações
- 1489-1511 1685f ID 62999+André+LuisDocumento23 páginas1489-1511 1685f ID 62999+André+LuisGi DuranAinda não há avaliações
- Sequências Didática1Documento9 páginasSequências Didática1Ana Paula CandidoAinda não há avaliações
- Nagime - Origens Cinema QueerDocumento57 páginasNagime - Origens Cinema QueerKênia FreitasAinda não há avaliações
- Franca Andrea e Lopes Denilson Cinema Globalizacao e InterculturalidadeDocumento402 páginasFranca Andrea e Lopes Denilson Cinema Globalizacao e InterculturalidadeAlexandre AlbernazAinda não há avaliações
- Filme Ensaio - TELA EM BRANCO Da Origem Do Ensaio Ao Ensaio Como OrigemDocumento14 páginasFilme Ensaio - TELA EM BRANCO Da Origem Do Ensaio Ao Ensaio Como Origemursula dartAinda não há avaliações
- Memória, identidade e currículo: desconstruindo discursos sobre docênciaDocumento9 páginasMemória, identidade e currículo: desconstruindo discursos sobre docênciaFernanda Binda Alves TouretAinda não há avaliações
- INTRODUÇÃO AO DOCUMENTÁRIO - NICHOLSDocumento6 páginasINTRODUÇÃO AO DOCUMENTÁRIO - NICHOLSjuliamoita0Ainda não há avaliações
- O Cinema em Sala de AulaDocumento197 páginasO Cinema em Sala de AulaJuliana Loydi LimaAinda não há avaliações
- CARDOSO & COELHO - Mitologia, História e CinemaDocumento30 páginasCARDOSO & COELHO - Mitologia, História e CinemaMarianaAinda não há avaliações
- Literatura e CinemaDocumento61 páginasLiteratura e CinemaMharkos CaetannoAinda não há avaliações
- O uso do cinema na educação históricaDocumento14 páginasO uso do cinema na educação históricaFabio Di RochaAinda não há avaliações
- O Cine Eu Ou Como o Planeta Passou A Girar em Torno Do Meu UmbigoDocumento16 páginasO Cine Eu Ou Como o Planeta Passou A Girar em Torno Do Meu Umbigonina.ricciAinda não há avaliações
- Projeto Arte na Escola usa cinema para ensinar HistóriaDocumento26 páginasProjeto Arte na Escola usa cinema para ensinar HistóriaIvete AlmeidaAinda não há avaliações
- Infância e linguagem: Bakhtin, Vygotsky e BenjaminNo EverandInfância e linguagem: Bakhtin, Vygotsky e BenjaminAinda não há avaliações
- Pensando o cinema no ensino das humanidades ufuDocumento11 páginasPensando o cinema no ensino das humanidades ufuandreAinda não há avaliações
- INQUISICAO_E_AUDIOVISUAL_A_REPRESENTACAODocumento13 páginasINQUISICAO_E_AUDIOVISUAL_A_REPRESENTACAODiniz is my religionAinda não há avaliações
- Significante e Significado Do Audiovisual Um Diálogo Entre Cinema, História e CulturaDocumento12 páginasSignificante e Significado Do Audiovisual Um Diálogo Entre Cinema, História e CulturamobcranbAinda não há avaliações
- A Geografia do CinemaDocumento16 páginasA Geografia do CinemaAna CamilaAinda não há avaliações
- Do Espaço Diegético Ao Espaço CinematográficoDocumento9 páginasDo Espaço Diegético Ao Espaço CinematográficoAlexandre Bruno GouveiaAinda não há avaliações
- A Invenção Do Lugar Pelo Cinema Brasileiro Contemporâneo PDFDocumento18 páginasA Invenção Do Lugar Pelo Cinema Brasileiro Contemporâneo PDFLid SantosAinda não há avaliações
- Do Sol Que GiraDocumento14 páginasDo Sol Que GiraAlexandre Bruno GouveiaAinda não há avaliações
- ATLAS of EMOTION - Uma Cartografia SensívelDocumento8 páginasATLAS of EMOTION - Uma Cartografia SensívelGex GeoAinda não há avaliações
- O Quadro, o Corpo e o Espaço No CinemaDocumento12 páginasO Quadro, o Corpo e o Espaço No CinemaAlexandre Bruno GouveiaAinda não há avaliações
- CinemaDocumento22 páginasCinemaPedro RochaAinda não há avaliações
- Geografias Do Cinema 0202Documento24 páginasGeografias Do Cinema 0202Chico SalesAinda não há avaliações
- Abjeção e Segredo: A Fotografia Como T Estemunho e Ficção: Concentração e de Extermínio Nazistas (1933-1999), ApresentaDocumento14 páginasAbjeção e Segredo: A Fotografia Como T Estemunho e Ficção: Concentração e de Extermínio Nazistas (1933-1999), ApresentaAlexandre Bruno GouveiaAinda não há avaliações
- A história da McLaren contada em desenho animadoDocumento20 páginasA história da McLaren contada em desenho animadoAlexandre Bruno GouveiaAinda não há avaliações
- Espaco e Lugar A Perspectiva Da ExperienDocumento4 páginasEspaco e Lugar A Perspectiva Da ExperienMaressa Freitas BurgerAinda não há avaliações
- A Questão Indígena e A ReescritaDocumento16 páginasA Questão Indígena e A ReescritaAlexandre Bruno GouveiaAinda não há avaliações
- Arte e FotojornalimoDocumento27 páginasArte e FotojornalimoAlexandre Bruno GouveiaAinda não há avaliações
- História da imprensa e surgimento dos quadrinhosDocumento21 páginasHistória da imprensa e surgimento dos quadrinhosAlexandre Bruno GouveiaAinda não há avaliações
- A REVOLUÇÃO DA IMPRESSÃO E SUAS CONSEQUÊNCIASDocumento25 páginasA REVOLUÇÃO DA IMPRESSÃO E SUAS CONSEQUÊNCIASAlexandre Bruno GouveiaAinda não há avaliações
- Planejamento de pautas no jornalismo impressoDocumento16 páginasPlanejamento de pautas no jornalismo impressoAlexandre Bruno GouveiaAinda não há avaliações
- 918 7508 3 PB PDFDocumento31 páginas918 7508 3 PB PDFDaniel SimoncelosAinda não há avaliações
- Matrícula Pós-Graduação UFMG 2022Documento1 páginaMatrícula Pós-Graduação UFMG 2022Alexandre Bruno GouveiaAinda não há avaliações
- A linguagem como ato político de resistência ao racismo cotidianoDocumento6 páginasA linguagem como ato político de resistência ao racismo cotidianoAlexandre Bruno GouveiaAinda não há avaliações
- Filmes da África e da DiásporaDocumento41 páginasFilmes da África e da DiásporaAlexandre Bruno GouveiaAinda não há avaliações
- A Retórica do Jornalismo: Uma análise da persuasão nos títulos de notíciasDocumento15 páginasA Retórica do Jornalismo: Uma análise da persuasão nos títulos de notíciasAlexandre Bruno GouveiaAinda não há avaliações
- Saber histórico e mimese em Paul RicoeurDocumento20 páginasSaber histórico e mimese em Paul RicoeurAlexandre Bruno GouveiaAinda não há avaliações
- A Travessia Dos Infernos Patemicos Na TRDocumento9 páginasA Travessia Dos Infernos Patemicos Na TRAlexandre Bruno GouveiaAinda não há avaliações
- A arte queer do fracasso e a potência do esquecimentoDocumento2 páginasA arte queer do fracasso e a potência do esquecimentoAlexandre Bruno GouveiaAinda não há avaliações
- PARA. INTRO Libro Maca. PaisajeDocumento9 páginasPARA. INTRO Libro Maca. PaisajeIrene Depetris-ChauvinAinda não há avaliações
- Comentário FanonDocumento2 páginasComentário FanonAlexandre Bruno GouveiaAinda não há avaliações
- Analise de Telejornalismo Desafios Teorico-MetodologicosDocumento416 páginasAnalise de Telejornalismo Desafios Teorico-Metodologicosthaiane_machadoAinda não há avaliações
- Reportagem e Documentario TelevisivoDocumento19 páginasReportagem e Documentario TelevisivoGue MartiniAinda não há avaliações
- Comentário Appadurai e AlexanderDocumento2 páginasComentário Appadurai e AlexanderAlexandre Bruno GouveiaAinda não há avaliações
- A Operação AndréDocumento2 páginasA Operação AndréDiegoAinda não há avaliações
- Atividedes Ensino Religioso Respeito e HumildadeDocumento1 páginaAtividedes Ensino Religioso Respeito e HumildadeCláudia Rodrigues88% (8)
- Igreja urbana e pós-modernidadeDocumento15 páginasIgreja urbana e pós-modernidadeTayron Barbara EndresAinda não há avaliações
- Comunicação IntraempresarialDocumento153 páginasComunicação IntraempresarialRamon RamonzitoAinda não há avaliações
- DESCANSADocumento2 páginasDESCANSAjuarez xuxuAinda não há avaliações
- PUC-SP Literatura Curso Voz FiguraçõesDocumento1 páginaPUC-SP Literatura Curso Voz FiguraçõesRenata DornelesAinda não há avaliações
- O narrador Prudencinhano em 'AntiperipléiaDocumento8 páginasO narrador Prudencinhano em 'AntiperipléiaFernando PauloAinda não há avaliações
- Ficha 1 - Formativa - AbrilDocumento3 páginasFicha 1 - Formativa - AbrilPaula Alexandra Jordão Fernandes Angelo 300Ainda não há avaliações
- Tempo CompostoDocumento20 páginasTempo CompostoLeonardo Condori MamaniAinda não há avaliações
- Crescendo em TudoDocumento4 páginasCrescendo em TudoMoacyr Maynard100% (1)
- Exercicio C ++ AtualizadoDocumento8 páginasExercicio C ++ AtualizadoWarley CostaAinda não há avaliações
- Três dias e três noites na BíbliaDocumento12 páginasTrês dias e três noites na BíbliaEduilio Oliveira SilvaAinda não há avaliações
- Semana de Arte Moderna de 1922Documento12 páginasSemana de Arte Moderna de 1922Ednaldo LopesAinda não há avaliações
- Criando o Banco de Dados e A Tabela No FireBirdDocumento4 páginasCriando o Banco de Dados e A Tabela No FireBirdAllyson OrnelasAinda não há avaliações
- Miolo 1 Etapa Aluno Edt 2 EdDocumento84 páginasMiolo 1 Etapa Aluno Edt 2 EdRossinalda Araujo67% (3)
- A Igreja e sua confessionalidadeDocumento16 páginasA Igreja e sua confessionalidadeJoão Ricardo GuerraAinda não há avaliações
- Homilética Na PráticaDocumento30 páginasHomilética Na PráticaachareiAinda não há avaliações
- Atalhos VS CodeDocumento3 páginasAtalhos VS CodeCarol LealAinda não há avaliações
- BNCC Ensino FundamentalDocumento21 páginasBNCC Ensino FundamentalJosefinaXavierJosefinaXavierAinda não há avaliações
- Sumário: Encontro de Casais Com CristoDocumento51 páginasSumário: Encontro de Casais Com CristoAntonio OliveiraAinda não há avaliações
- Cantos de Atividades para Revelar Projetos - Tempo de CrecheDocumento10 páginasCantos de Atividades para Revelar Projetos - Tempo de CrecheThalita Melo De Souza MedeirosAinda não há avaliações
- Guia Do ProfessorDocumento79 páginasGuia Do ProfessorarmandaluisAinda não há avaliações
- Urraca ActivDocumento12 páginasUrraca ActivpengenheiroAinda não há avaliações
- Simulado BB Agente Comercial 29/01Documento11 páginasSimulado BB Agente Comercial 29/01Maycom Rodrigues100% (1)
- Carocha - Enunciado - 4.º Teste 8.º C Jan - 2022Documento6 páginasCarocha - Enunciado - 4.º Teste 8.º C Jan - 2022patriciacarochaAinda não há avaliações
- Comparativos e superlativos de adjetivosDocumento3 páginasComparativos e superlativos de adjetivosmpetrini31100% (1)
- A natureza demoníaca reveladaDocumento15 páginasA natureza demoníaca reveladaRogério MariaAinda não há avaliações
- Resumo para A Prova de PortuguêsDocumento2 páginasResumo para A Prova de PortuguêsmilpaulaAinda não há avaliações
- Dons Espirituais Licao 05 Igreja Batista Memorial de JundiaiDocumento4 páginasDons Espirituais Licao 05 Igreja Batista Memorial de JundiaiFábio e WivianeAinda não há avaliações