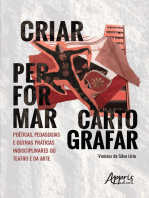Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
NOVAES Por Uma Sensibilizacao Do Olhar
Enviado por
Tássio FariasTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
NOVAES Por Uma Sensibilizacao Do Olhar
Enviado por
Tássio FariasDireitos autorais:
Formatos disponíveis
POR UMA
SENSIBILIZAÇÃO
DO OLHAR – SOBRE
A IMPORTÂNCIA
DA FOTOGRAFIA
DOI
NA FORMAÇÃO DO
10.11606/issn.2525-3123.
gis.2021.179923 ANTROPÓLOGO1
SYLVIA CAIUBY NOVAES
ORCID Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil, 05508-010
http://orcid.org/0000-0002-7415-2010 fla@usp.br
Meu foco nesse ensaio não é o filme etnográfico, mas
algo dos quais os filmes, na minha opinião, muito
dependem e que é a sensibilidade do olhar, uma expres-
são que talvez seja mais comum entre aqueles que se
dedicam à fotografia. Na antropologia visual dediquei-
-me muito mais à fotografia do que ao filme, área na
qual atuei poucas vezes.
A Antropologia é uma das áreas das chamadas Ciências
Sociais em que o verbo, as palavras, o livro, as leituras,
tem papel preponderante. Com isso quero dizer que
desde o início, a formação do cientista social volta-se
para o aprendizado de conceitos, dos quadros teóricos
das várias disciplinas curriculares, do histórico dessas
disciplinas, das diversas abordagens desenvolvidas
pelos vários cientistas sociais que estudamos. Nas dis-
ciplinas cursadas, o objetivo é o aprofundamento de
instrumentos conceituais, teóricos e metodológicos
pertinentes à reflexão antropológica, que tem início
nos cursos com conceitos centrais da Antropologia,
como cultura, etnocentrismo, relativismo e diversidade
1
Conferência para a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), campus
Rio Tinto, III Mostra Arandu, ciclo de debates sobre filmes etnográ-
ficos. 26 de agosto, 2020.
1 São Paulo, v. 6, n.1: e-179923, 2021.
cultural, sociedade, organização, estrutura, instituição, função e processos
sociais. Passamos nos cursos pelas várias escolas teóricas da Antropologia,
como o evolucionismo, difusionismo, configuracionismo ou estudos de
cultura e personalidade, o funcionalismo na antropologia social britânica,
o estruturalismo, a antropologia pós moderna, etc.
Cursos mais específicos abordam temas caros à Antropologia: arte, paren-
tesco, economia, troca e reciprocidade, religião, mito e pensamento ame-
ríndio, os marcadores sociais da diferença (como gênero, sexualidade,
geração, raça, classe, idade, etc.). Cursos mais metodológicos introduzem
os alunos à prática da pesquisa de campo, observação participante, à
elaboração de etnografias, elaboração de projetos e relatórios de pesquisa.
Quero enfatizar que todos esses cursos são absolutamente fundamentais
para a formação do cientista social de modo geral e do antropólogo em
particular, seja qual for a área em que ele vai se especializar. Valorizo
muito essa sólida formação do cientista social e do antropólogo e minha
posição é que aqueles que se dedicam à antropologia visual não podem,
de modo algum, abrir mão dessa sólida formação. É isso, afinal, que nos
distingue. Não somos cineastas, fotógrafos, artistas plásticos. Somos
antropólogos.
A Antropologia é, de todas as Ciências Sociais, a que mais estabelece inter-
faces com outras áreas do conhecimento, desde o início da história de
nossa disciplina: com a História, a Linguística, a Psicologia, a Medicina,
o Direito, a Economia e também as Artes, nas suas mais diversas formas
de expressão: dança, teatro, literatura, música, fotografia, cinema, etc.
Acho extremamente importante que alguém que queira se especializar
em antropologia visual tenha proximidade com as artes. Foi só quando
fui redigir meu memorial para o concurso de livre docência, na USP um
concurso posterior ao doutorado, que me dei conta da importância das
artes em minha formação. Desde minha juventude sempre fui muito a
exposições em museus e galerias e pude fazer alguns cursos de artes.
Tive o privilégio de frequentar a Escola de Artes Brasil, uma escola de artes
experimental, fundada por quatro artistas paulistas, que eram todos, na
época, estudantes de arquitetura: Luiz Paulo Baravelli, Frederico Nasser,
Carlos Fajardo e José Rezende; todos haviam sido alunos de Wesley Duke
Lee. Em plena era Medici (1969-1974), no contexto dos anos mais autori-
tários da história do Brasil, a escola era um espaço de total liberdade de
expressão. A arte era pensada como ligada à vida e não tinha como con-
dição uma formação específica, ou um grande talento. “A arte é muitas
coisas” diziam os professores.
2 São Paulo, v. 6, n.1: e-179923, 2021.
O aprendizado se distanciava da “obra” e do “mercado”. O importante era
restituir a sensibilidade por meio da educação estética – dos repertórios.
Nessa escola não eram os meios expressivos, mas os processos criativos
de professores e alunos que orientariam o aprendizado. O processo era
sempre mais importante do que o resultado, daí a importância de criar
repertório, frequentar a biblioteca, observar atentamente.
Havia na escola muita experimentação e uma das mais importantes era
o desenho cego. O desenho e o processo criativo eram uma questão de
observação, interesse, raciocínio visual e experiência. O desenho de obser-
vação era quase que um equivalente da própria experiência de ver: a mão
que desenha acompanha o olho que vê. Lembro-me de um dos exercícios,
que era sentar-se à frente de uma pessoa, tendo entre as duas uma mesa
estreita, de cerca de 50 cm de largura, de modo que a distância entre as 2
pessoas que se sentavam frente à frente era bem pequena. Tínhamos que
ficar em silêncio por cerca de 10 minutos, apenas observando, o que já é
uma experiência bastante pouco usual e até constrangedora para mui-
tos. Depois de 10 minutos de atenta observação tínhamos que começar a
desenhar, mas o papel era colocado numa prateleira abaixo da mesa, de
modo que não era possível ver o que a mão desenhava. Lembro-me de ter
desenhado Helena Carvalhosa, hoje uma grande artista plástica, e que
todo o meu corpo participava desse gesto que era executado pela mão. Era
importante não olhar as mãos, para que não exercêssemos uma censura
crítica e auto destrutiva àquilo que estávamos desenhando, para que o
desenho fosse fruto do gesto, surgisse em contiguidade com ele. Desenhos
não utilizam necessariamente a totalidade da superfície do papel e não
é preciso começar pensando no todo para desenhar (ao contrário da pin-
tura). Os resultados eram extremamente expressivos. A Escola de Artes
Brasil: apostava em novas formas de fazer arte.
Tinha duas aulas por semana, de 3 horas cada aula. Outros artistas, como
Claudia Andujar participavam das oficinas. Fiz um curso de fotografia
de um ano com Claudia Andujar. Durante as aulas ficávamos por horas
ao redor de uma enorme mesa, apenas olhando e comentando as fotos
colocadas sobre a mesa. Fotos de grandes fotógrafos, Ansel Adams, Elliot
Erwit, Cartier Bresson, Bill Brandt, Eugene Atget, Irving Penn, Pierre Verger,
Marcel Gautherot, George Love, fotógrafos com estilos muito diversos. O
importante era criar repertório, como que para absorver esse modo de
olhar desses grandes fotógrafos.
Saíamos também em caminhadas pelo centro de São Paulo, para fotografar
a cidade. Detalhe importante: fotografávamos sem nenhuma câmera, que
segundo Claudia poderia nos levar a privilegiar a técnica em detrimento
do olhar. Com os indicadores e o polegar das duas mãos fazíamos o melhor
3 São Paulo, v. 6, n.1: e-179923, 2021.
enquadramento do que estava sendo observado. Posso dizer que continuo,
até hoje, fotografando onde estiver, sem câmera.
Os cursos na Escola de Artes Brasil foram fundamentais na minha for-
mação. Nunca me tornei artista, mas esses cursos me propiciaram uma
enorme sensibilidade do olhar. A sensibilidade do olhar depende, tal como
a atitude de qualquer cientista, de um estranhamento, de certa relação até
paradoxal, entre proximidade e distância. É preciso muita proximidade,
como no exercício de observar uma pessoa tendo apenas 50 cm entre você
e ela; mas é também preciso distância, distância aqui entendida como
uma certa desfamiliarização, ou uma desnaturalização do olhar. Dificil-
mente enxergamos aquilo que nos é extremamente familiar, estamos tão
habituados que ficamos como que cegos. Os surrealistas perceberam bem
como lidar com objetos que nos são familiares e que eles denominavam
a fotogenia dos objetos cotidianos.
A sensibilização do olhar é fundamental na formação do antropólogo.
Vivemos hoje em mundos enclausurados, compartimentados, empa-
redados, que não nos permitem esse olhar sensível. E não me refiro ao
confinamento que nos é imposto como condição de isolamento na atual
pandemia do corona vírus. Há muito tempo vivemos em espaços fechados,
murados: as cidades estão cheias de condomínios murados, andamos em
carros, cujas janelas são escurecidas, são muitas as casas nas cidades
com muros altíssimos, fazemos as compras em shoppings fechados, as
crianças deixaram de brincar nas ruas, estudam em escolas fechadas. Já
estávamos enclausurados antes mesmo da pandemia que começou a se
espalhar pelo mundo a partir de dezembro de 2019. A pandemia apenas
diminuiu nosso espaço de circulação e nos obrigou a um cotidiano em que
a tela, seja do celular, do tablet, do computador, não sai da nossa frente.
Para fazer uma boa foto é preciso sair desses espaços que nos aprisionam
e com os quais estamos tão familiarizados. É preciso caminhar, como
tanto aprecia Tim Ingold, e observar. Como antropólogos precisamos
nos permitir sair dos livros, temos que nos deter no todo e em detalhes,
descobrir ângulos que não suspeitávamos, observar gestos e expressões
faciais, detalhes arquitetônicos, ter atenção para as minúcias que fazem
parte de modos específicos de habitar e viver o mundo.
Ismail Xavier diz, referindo-se à imagem cinematográfica, que “Toda
imagem é produção de um ponto de vista: o do sujeito observador, não o
da “objetividade” da imagem”. (Xavier 1990, 379). Estas observações podem
efetivamente ser transpostas para a fotografia.
A questão do repertório é fundamental. Assim como lemos muitos livros,
de muitos autores, temos que olhar fotos, de muitos fotógrafos diferentes,
4 São Paulo, v. 6, n.1: e-179923, 2021.
temos que frequentar exposições fotográficas. Percebam que a fotografia
não será lida. Não lemos uma foto, o que fazemos é olhar atentamente a
imagem. Ao olhá-la reconhecemos ou não determinados detalhes de seu
conteúdo. Bergson dizia que o olho só vê o que a mente está preparada
para conhecer. Franz Boas dizia que “o olho que vê é órgão da tradição”.
O fato é que ninguém consegue ver com olhos inocentes: destituídos das
preconcepções de seu tempo e cultura; por outro lado, quanto mais amplo
nosso repertório, mais conseguiremos ver.
Nesse sentido, além das questões culturais que nos permitem ou não
decodificar determinada imagem, é o repertório de cada observador que
levará à percepção de diferentes significados. A polissemia da imagem,
seus múltiplos significados, não estão na imagem em si, mas na recepção.
Imagens tem esse enorme poder de evocação, que depende das vivências
de quem a observa, de sua história de vida, de suas memórias.
José de Souza Martins vê o ato fotográfico como uma construção imagi-
nária, expressão e momento do ato de conhecer a sociedade com recursos
e horizontes próprios e peculiares. A imagem frequentemente demonstra
a insuficiência da palavra como documento da consciência social e como
matéria prima do conhecimento. Paradoxalmente, imagens nos permitem
melhor perceber as “entrelinhas”, os subentendidos.
Podemos ler artigos sobre a fome na África, análises, informações, dados
estatísticos. Imagens podem ser mais eloquentes. Kevin Carter, fotógrafo
sul-africano, ganhou em 1994 o Prêmio Pulitzer de fotografia ao retratar
uma menina sudanesa esquálida e moribunda, tendo a seu lado um
abutre que apenas aguardava seu momento final. Sabe-se que o fotógrafo
cometeu suicídio meses após o prêmio.
Não são apenas as fotografias que nos emocionam pelo sentido de rea-
lidade que proporcionam. Como cientistas sociais, já lemos inúmeros
textos críticos a respeito de instituições como o Estado, a Igreja, o Exército
e a família. As gravuras de Goya, penso especialmente nas séries Capri-
chos e Desastres da Guerra, que comoveram o século XVIII continuam a
causar em nós um grande impacto pela força daquilo que apresentam
imageticamente. Apocalypse Now, filme de 1979 de Francis Ford Coppola,
certamente aproxima o espectador dos horrores da guerra do Vietnã de um
modo inigualável e em minha opinião supera o romance de Conrad que
deu origem ao filme. Eu mesma procurei tratar da desigualdade socioe-
conômica no Brasil num videoclipe em que a frieza dos dados estatísticos
pudesse ser substituída pela ironia das fotos de revistas como Caras e
Chiques e Famosos, tendo como pano de fundo a música Fim de Semana
no Parque, dos Racionais.
5 São Paulo, v. 6, n.1: e-179923, 2021.
Mas por que enfatizar a importância da fotografia na formação do
antropólogo?
Hoje não tenho dúvida de que a fotografia é um excelente recurso para
que alguém se inicie na pesquisa de campo com o intuito de produzir
etnografias. Em primeiro lugar, porque a fotografia permite mudar o
foco – do verbo para o comportamento, o corpo, os gestos, os detalhes
sobre os quais nem sempre é possível falar. Com a fotografia saímos das
famosas entrevistas, que frequentemente empobrecem, e muito, a etno-
grafia. As fotos evidenciam imediatamente se o pesquisador conseguiu
ou não uma maior intimidade com o tema e as pessoas escolhidas. Sem
se aproximar é impossível uma boa foto. Nesse sentido, a fotografia, que
é essencialmente muda, é mais importante do que o ato de filmar, em
que sempre corremos o risco, como cientistas sociais, de preencher tudo
o que não foi observado com aquelas entediantes entrevistas, de nativos
e especialistas.
Na pesquisa de campo a fotografia pode ser um estímulo para que o pes-
quisador se aproxime do universo que deseja conhecer. O ato de fotografar
implica empatia e certamente intersubjetividade. É muito difícil fotografar
em ambientes a que não pertencemos sem que se estabeleça uma relação
de confiança, intimidade e empatia. A câmera é, por outro lado, um ins-
trumento que obriga à observação atenta, um olhar sensível e, de certo
modo desnaturalizado. Tal como em toda boa pesquisa, para fotografar
é preciso estranhar – ou desnaturalizar o olhar – e ao mesmo tempo se
aproximar. Distância e proximidade são, como dissemos, ingredientes
fundamentais da boa etnografia e igualmente da fotografia. Fotografar
implica igualmente um tipo de conhecimento que não passa pela palavra,
mas muito mais pela sensibilidade do olhar, pela intuição, pela capacidade
de estar no lugar certo na hora certa, pela sensibilidade de colocar o corpo
(e a câmera a ele acoplada) na correta distância. Fotografar implica a boa
relação que se consegue estabelecer com as pessoas que fotografamos. É
igualmente importante no ato de fotografar decidir o que estará em foco
e o que estará desfocado, ou se tudo que a foto mostra estará em foco.
Não tenho a menor dúvida de que estas habilidades são fundamentais
para a boa pesquisa de campo.
Participei em 2018 de uma exposição fotográfica de trabalhos feitos por
antropólogos, com curadoria de Fabiana Bruno e que se intitulava Con-
fidências das imagens na Antropologia, modos de ver, pensar e interrogar.
Há dois sentidos ligados à palavra confidências no título dessa exposição,
que gostaria de aqui ressaltar: segredo e intimidade. Segredo e intimi-
dade, pois as fotografias, desenhos e objetos reunidos nessa exposição de
antropólogos revelam muito de seus autores, como se evidenciassem seus
segredos; por outro lado, são imagens e objetos que revelam sentimentos
6 São Paulo, v. 6, n.1: e-179923, 2021.
de afetos entre os antropólogos e os parceiros de suas pesquisas, um
relacionamento de intimidade e cumplicidade com o tema e seus inter-
locutores. Segredo e intimidade que dificilmente conseguiríamos com o
texto acadêmico, que partilhamos com as outras Ciências Sociais, como
a Sociologia e a Ciência Política. Por outro lado, quero enfatizar que cabe
ao pesquisador plena consciência das imagens que ele quer ver publicadas
a respeito das pessoas que pesquisa, de seus interlocutores. Essa é uma
questão ética. Imagens contribuem, como o nome já diz, para a imagem
que se terá daquele povo.
Minha convicção é que, de todas as disciplinas que compõem as Ciên-
cias Sociais, é a Antropologia que mais se aproxima do lado sensível da
realidade social em que todas se debruçam e, por outro lado, a que mais
se aproxima das artes e incorpora, a seu modo, as linguagens que nos
chegam desse campo, como a fotografia, o desenho, o cinema, etc. Por
uma razão muito simples: mais do que sociólogos e cientistas políticos,
somos nós antropólogos que, em nossas pesquisas, procuramos uma
verdadeira imersão nesses mundos outros que nos dispomos a entender.
A pesquisa de campo envolve relações face a face, pelo tempo prolongado
em que convivemos nesses outros universos empíricos. Não trabalhamos
com questionários e sabemos que entrevistas, mesmo as não estruturadas
pouco rendem e significam, em geral, uma comunicação opaca com nossos
interlocutores. Relações de confiança mútua são nossos principais instru-
mentos de pesquisa e sabemos o quanto isso demora a ser estabelecido.
A fotografia tem, a meu ver, uma certa associação com a narrativa de que
tão bem fala Walter Benjamin. Ele já dizia que “a experiência que passa
de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos os narradores. E dentre
as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das
histórias orais, contadas pelos inúmeros narradores anônimos” (1996,
198). O narrador segundo Benjamin, retira da experiência o que ele conta
– é a sua própria experiência ou a que os outros relatam. Ao narrar ele
incorpora as coisas narradas à experiência de seus ouvintes.
Diria que tanto a fotografia como a narrativa têm esta capacidade (que
não é dada ao texto acadêmico ou à informação jornalística) de acolher
a experiência de quem contempla ou ouve. Acolhimento que desperta
em quem ouve ou contempla novas reflexões, sobre suas próprias expe-
riências. Por acolhimento da fotografia quero dizer que ela é suficiente-
mente “aberta” para que o observador possa mergulhar em seu interior e,
paradoxalmente, perceber em si mesmo o que a foto desperta. Ao vermos
algo, vemos não apenas a aparência da coisa que a imagem nos mostra,
mas igualmente a relação que mantemos com esta aparência. Imagens
estimulam a imaginação e podem nos levar a estabelecer relações antes
insuspeitas.
7 São Paulo, v. 6, n.1: e-179923, 2021.
A narrativa não explica; tal como a fotografia, ela evoca. A arte de narrar
deixa na narrativa a marca do narrador, assim como a boa foto traz o
olhar sensível do fotógrafo atento ao captá-la.
Muito diferente é a entrevista, seja aquela do nativo, seja a do especialista
no assunto de que se está tratando e que povoa grande parte dos filmes
etnográficos contemporâneos. O entrevistado apenas responde às per-
guntas previamente formuladas pelo pesquisador e fala frente à câmera
com um mínimo de envolvimento. Quase não há gestos, o discurso que
surge para a câmera é praticamente um discurso pronto. Não se vê no
entrevistado um mergulho no tema que o obrigue a um trabalho de memó-
ria. Certamente esta não é uma regra que se aplique a toda e qualquer
entrevista. Claude Lanzmann, diretor de Shoah e Eduardo Coutinho são
grandes mestres da entrevista.
Por outro lado, diria que a fotografia é uma excelente aliada do pesquisador
em campo. Levar aos fotografados as fotos que deles tiramos é essencial
numa relação a longo prazo. Além disso, como as fotos estimulam con-
versas, é sempre possível, em campo, introduzir as fotos sobre os temas
que queremos discutir com nossos interlocutores, sem que o tema caia
do céu. Fotos rendem conversas que seriam com certeza impossíveis
sem elas. Como falar sobre funerais se nenhum está ocorrendo naquele
momento em que estamos no campo?
Em termos de apresentação de resultados de pesquisa a fotografia pode
trazer à Antropologia um novo horizonte, mais sensível, a partir do qual
será inclusive possível a elaboração de um discurso mais próximo de nos-
sos universos de pesquisa. Lanço aqui um outro desafio interessante para
a Antropologia contemporânea e, mais especificamente, para a etnografia
experimental. Vejam que não me refiro aqui à imagem como via de acesso
ao imaginário, mas à imagem como linguagem. Esse é um outro desafio,
a ser levado à sério e com a competência desejada. As imagens muito mais
evocam do que explicam. Após a crise da representação que atinge as
ciências humanas a partir de meados da década de 80, linguagens como
a da fotografia e a do cinema podem ser inspiradoras. Uma escrita que
incorpore a montagem, a simultaneidade, a polifonia e a descontinuidade
narrativa, que o cinema vem utilizando há quase um século, deveriam
nos estimular como antropólogos a problematizar a noção de cultura com
que trabalhamos, a rever a desterritorialização cada vez mais presente
nos grupos que estudamos, e fundamentalmente poderiam nos estimular
a experimentar novas estruturas narrativas.
Ao fotografar o pesquisador isola alguns fragmentos do universo que
investiga. Este recorte espacial evidencia alguns aspectos que são real-
çados pela foto. Como antropólogos sabemos que o rendimento de nossas
8 São Paulo, v. 6, n.1: e-179923, 2021.
pesquisas é maior quando nos debruçamos sobre universos de escala
reduzida. Nossas abordagens micro são mais interessantes, via de regra,
que nossas abordagens macro. É também assim que a fotografia trabalha.
Ninguém fotografa a realidade ou a sociedade. Tal como a etnografia,
a fotografia nos dá a sensação de incompletude, nem uma nem outra
abarcam tudo, são sempre fragmentárias, recortam um campo sobre o
qual se aprofundam, num mergulho que é, ao mesmo tempo, sensível e
inteligível. Isso só pode significar um ganho para nós. É o silêncio elo-
quente das imagens que podemos levar para nossa disciplina, com tudo
que, a seu modo, as fotografias têm a dizer.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Benjamin, Walter. 1996. “O Narrador – Considerações sobre a Obra de Nikolai Leskov”. In
Magia e Técnica, Arte e Política – Ensaios sobre Literatura e História da Cultura de Walter
Benjamin. Obras Escolhidas, Volume 1. São Paulo: Editora Brasiliense. 197-221.
Conrad, Joseph. 2019 [1902]. Coração das Trevas. São Paulo: Ubu.
Martins, José de Souza. 2008. Sociologia da fotografia e da imagem. São Paulo: Contexto.
Xavier, Ismail. 1990. Cinema, Revelação e Engano. IN O Olhar Org. Adauto Novaes. São Paulo:
Companhia das Letras. 367-383.
FILMES
Coppola, Francis Ford. 1979. Apocalypse Now. Estados Unidos.
Lanzmann, Claude. 1985. Shoah. Paris, França.
RESUMO
Nesse texto, procuro associar a pesquisa de campo antropológica ao próprio
ato fotográfico, mostrando o que há de comum nessas duas atividades: a
necessidade de recorte, de proximidade, de intimidade e empatia, a decisão
sobre o que estará ou não em foco. A partir de minhas experiências na
Escola de Arte Brasil, falo sobre a sensibilização do olhar, a necessidade
de criar repertórios e a oportunidade que a fotografia oferece de mudar
PALAVRAS-CHAVE o foco – do verbo para o comportamento, o corpo, os gestos, os detalhes
Fotografia; sobre os quais nem sempre é possível falar. Procuro ainda ressaltar a
Pesquisa de campo associação da fotografia com a narrativa de que fala Walter Benjamin, a
em Antropologia;
Sensibilização do capacidade tanto da narrativa, quanto da fotografia, de acolher a expe-
olhar. riência de quem a ouve ou contempla.
9 São Paulo, v. 6, n.1: e-179923, 2021.
ABSTRACT
In this text, I try to associate anthropological field research to the photo-
graphic act itself, showing what is common in these two activities: the
need for clipping, proximity, intimacy and empathy, the decision about
what will or will not be in focus. From my experiences at the Escola de
Arte Brasil: I talk about the awareness of the gaze, the need to create
repertoires and the opportunity that photography offers to change the
focus - from the verb to behavior, the body, the gestures, the details about
KEYWORDS which it is not always possible to speak. I also try to emphasize the asso-
Photography; ciation of photography with the narrative that Walter Benjamin talks
Field research in
Anthropology; about, the ability of both the narrative and the photography to welcome
Eye awareness. the experience of those who hear or contemplate it.
Sylvia Caiuby Novaes é antropóloga, Professora Titular no Departamento de Antropologia
da Universidade de São Paulo, Coordenadora do LISA – Laboratório de Imagem e Som
em Antropologia e do GRAVI – Grupo de Antropologia Visual. Pesquisadora 1B do CNPq
(301161/2018-6) e da FAPESP (2018/21140-9). E-mail: scaiuby@usp.br
Licença de uso. Este artigo está licenciado sob a Licença Creative Commons CC-BY. Com
essa licença você pode compartilhar, adaptar, criar para qualquer fim, desde que atribua a
autoria da obra.
Recebido em: 24/11/2020
Aprovado em: 27/11/2020
10 São Paulo, v. 6, n.1: e-179923, 2021.
Você também pode gostar
- Criação e Processos Artísticos em Sala de Aula - Um Olhar de Maurice Merleau-PontyNo EverandCriação e Processos Artísticos em Sala de Aula - Um Olhar de Maurice Merleau-PontyAinda não há avaliações
- Percepção sensorial e antropologiaDocumento21 páginasPercepção sensorial e antropologiaRenato Mendes RosaAinda não há avaliações
- "Pare, Olhe, Escute!" - Um Prefácio Tim IngoldDocumento5 páginas"Pare, Olhe, Escute!" - Um Prefácio Tim IngoldMarisa RodriguesAinda não há avaliações
- TEORIA PERCEPÇÃO E LINGUAGEM VISUALDocumento7 páginasTEORIA PERCEPÇÃO E LINGUAGEM VISUALWitch MusicAinda não há avaliações
- Pare, olhe, escute! - um prefácio sobre a percepção humanaDocumento62 páginasPare, olhe, escute! - um prefácio sobre a percepção humanaAna Livia Rolim SaraivaAinda não há avaliações
- Pare, Olhe, EscuteDocumento4 páginasPare, Olhe, EscuteMatheusAinda não há avaliações
- Resumos do Seminário de Pesquisas em Artes CênicasDocumento7 páginasResumos do Seminário de Pesquisas em Artes CênicasBruna AndradeAinda não há avaliações
- 2011 Eve FcoliveiraDocumento15 páginas2011 Eve FcoliveiraJulio Neves PereiraAinda não há avaliações
- O Silencio Das Imagens FotográficasDocumento11 páginasO Silencio Das Imagens FotográficasWilliamacedoAinda não há avaliações
- Processos Criativos na AntropologiaDocumento11 páginasProcessos Criativos na AntropologiaGN 7FOTOS7Ainda não há avaliações
- Relatório de Estudo - Duarte JuniorDocumento1 páginaRelatório de Estudo - Duarte Juniorandersoncandia.arteAinda não há avaliações
- Propagandas em RevistasDocumento7 páginasPropagandas em RevistasMelissa CAinda não há avaliações
- Interfaces entre Cena Teatral e Pedagogia: A Percepção Sensorial na Formação do Espectador-Artista-ProfessorNo EverandInterfaces entre Cena Teatral e Pedagogia: A Percepção Sensorial na Formação do Espectador-Artista-ProfessorAinda não há avaliações
- Criar, Performar, Cartografar: poéticas, Pedagogias e Outras Práticas Indisciplinares do Teatro e da ArteNo EverandCriar, Performar, Cartografar: poéticas, Pedagogias e Outras Práticas Indisciplinares do Teatro e da ArteAinda não há avaliações
- Leitura de imagens e cultura visualDocumento54 páginasLeitura de imagens e cultura visualGyL Alcântara Cia MetáforaAinda não há avaliações
- Pensando Sobre Pesquisa em Artes Da Cena (Marília Velardi)Documento10 páginasPensando Sobre Pesquisa em Artes Da Cena (Marília Velardi)Ana Bárbara RamosAinda não há avaliações
- Dança Contempop: Corpos, afetos e imagens (mo)vendo-seNo EverandDança Contempop: Corpos, afetos e imagens (mo)vendo-seAinda não há avaliações
- Significação: Revista de Cultura Audiovisual 2316-7114: E-Issn: Significacao@Documento15 páginasSignificação: Revista de Cultura Audiovisual 2316-7114: E-Issn: Significacao@14belsantos06alvesAinda não há avaliações
- TCC A Importancia Das Artes Visuais Na Aprendizagem EscolarDocumento30 páginasTCC A Importancia Das Artes Visuais Na Aprendizagem EscolarMercedesMacamAinda não há avaliações
- Arte, vida e ambientações clínicasDocumento213 páginasArte, vida e ambientações clínicasLucas GuilhermeAinda não há avaliações
- Método Etnográfico e Observação ParticipanteDocumento8 páginasMétodo Etnográfico e Observação ParticipanteLenon EduardoAinda não há avaliações
- Oficinas de TrabalhoDocumento15 páginasOficinas de Trabalhoana cabralAinda não há avaliações
- Antropologia e imagemDocumento3 páginasAntropologia e imagemMatheus FernandesAinda não há avaliações
- Janaina Fontes Le It eDocumento119 páginasJanaina Fontes Le It ePedro PereiraAinda não há avaliações
- Ppgsa UfrgjDocumento288 páginasPpgsa Ufrgjmariapaulapm100% (1)
- A expressão facial na arteDocumento115 páginasA expressão facial na arteLuciana Carmo100% (2)
- Escuta, Movimento, Modos e Maneiras de Existir em PerformanceNo EverandEscuta, Movimento, Modos e Maneiras de Existir em PerformanceAinda não há avaliações
- DFCH456 Teorias1 ApostilaDocumento147 páginasDFCH456 Teorias1 ApostilaDeoveki SilvaAinda não há avaliações
- Cultura Visual: Uma crítica da visãoDocumento20 páginasCultura Visual: Uma crítica da visãoAdriana LeitesAinda não há avaliações
- O Desenho Arquitetônico: fenomenologia e linguagem em Joan VillàNo EverandO Desenho Arquitetônico: fenomenologia e linguagem em Joan VillàNota: 2 de 5 estrelas2/5 (1)
- Ingold - Antropologia Versus Etnografia PDFDocumento7 páginasIngold - Antropologia Versus Etnografia PDFjulibazzo100% (1)
- Por que a etnografia no sentido estritoDocumento13 páginasPor que a etnografia no sentido estritoYuri De Nóbrega SalesAinda não há avaliações
- Abordagem comparativa na escolaDocumento59 páginasAbordagem comparativa na escolaMarcelo MedeirosAinda não há avaliações
- A Arte Visionária e A AyahuascaDocumento291 páginasA Arte Visionária e A AyahuascaJose Eliezer Mikosz100% (6)
- Rua Quinze Magnani PDFDocumento8 páginasRua Quinze Magnani PDFsaniellerolimAinda não há avaliações
- Culturas visuais no ensino da arte no BrasilDocumento9 páginasCulturas visuais no ensino da arte no BrasilmarcgobaAinda não há avaliações
- Livro Arte EducaçãoDocumento237 páginasLivro Arte EducaçãoKleber J G MartinsAinda não há avaliações
- Apostila de Antropologia Cultural - Montenegro 16 de Junho 13Documento34 páginasApostila de Antropologia Cultural - Montenegro 16 de Junho 13Valdilei Gonçalves SantosAinda não há avaliações
- Lucem DiffundoDocumento39 páginasLucem DiffundoElder Al Kondari MessoraAinda não há avaliações
- A Arte Visionária e A Ayahuasca - José Eliézer MikoszDocumento316 páginasA Arte Visionária e A Ayahuasca - José Eliézer MikoszFilipe Henz Alencar100% (1)
- Processos e Práticas de Pesquisa em Cultura Visual e EducaçãoNo EverandProcessos e Práticas de Pesquisa em Cultura Visual e EducaçãoAinda não há avaliações
- Tese - Mário Rui Azinheiro - Mestrado Via Ensino Artes Visuais - FINALDocumento266 páginasTese - Mário Rui Azinheiro - Mestrado Via Ensino Artes Visuais - FINALDeco GonçalvesAinda não há avaliações
- Programa FLS5958-1 - Análise e Produção de Narrativas Visuais Na AntropologiaDocumento5 páginasPrograma FLS5958-1 - Análise e Produção de Narrativas Visuais Na AntropologiarolembergigorAinda não há avaliações
- Ensino de arte e cultura visualDocumento10 páginasEnsino de arte e cultura visualJosé Paulo GuimarãesAinda não há avaliações
- Cinema Universidade Perspectivas DebatesDocumento4 páginasCinema Universidade Perspectivas DebatesAndressa RickliAinda não há avaliações
- Mostrar o ver: Uma crítica à cultura visualDocumento21 páginasMostrar o ver: Uma crítica à cultura visualAna Paula Nunes ChavesAinda não há avaliações
- Pesquisa em Artes - ArtografiaDocumento24 páginasPesquisa em Artes - Artografiajanaina100% (1)
- A Expansão da Consciência na Arte: Uma Análise da Arte VisionáriaDocumento58 páginasA Expansão da Consciência na Arte: Uma Análise da Arte VisionáriaPaulo SilvaAinda não há avaliações
- Antropologia Ecológica: Um olhar materialista sobre as sociedadesDocumento105 páginasAntropologia Ecológica: Um olhar materialista sobre as sociedadessergioAinda não há avaliações
- Foto Koosoy PDFDocumento11 páginasFoto Koosoy PDFthiaguinholayerAinda não há avaliações
- Leitura de Imagem na Formação do ProfessorDocumento45 páginasLeitura de Imagem na Formação do ProfessorKatcha MotaAinda não há avaliações
- Ebook - Entenda A BNCC de ArteDocumento10 páginasEbook - Entenda A BNCC de ArteJucinaldo PereiraAinda não há avaliações
- Relatório de Estudo - Paulo C. A. de SouzaDocumento1 páginaRelatório de Estudo - Paulo C. A. de Souzaandersoncandia.arteAinda não há avaliações
- LIVRO - UNICO Pesquisa OperacionalDocumento220 páginasLIVRO - UNICO Pesquisa OperacionalTarcila Matos100% (1)
- Eja 4FDocumento321 páginasEja 4FAuliam Silva100% (1)
- Edital 2 2014 Prova Colegiada Servico Social UnaDocumento5 páginasEdital 2 2014 Prova Colegiada Servico Social UnaCristianoCostadeCarvalhoAinda não há avaliações
- Michael Balint - A Falha BasicaDocumento188 páginasMichael Balint - A Falha BasicaJúlio Parreira100% (3)
- A Base Da Chape LeDocumento116 páginasA Base Da Chape Lefelipegabrieldoss.silvaAinda não há avaliações
- As Dinâmicas Humanas e a importância da diversidadeDocumento38 páginasAs Dinâmicas Humanas e a importância da diversidadev3deos3diversosAinda não há avaliações
- LIVRO 8 O Ensino Mat Ed InclusivaDocumento130 páginasLIVRO 8 O Ensino Mat Ed InclusivaGustavo FrançaAinda não há avaliações
- Metodologias ativas no ensino de CiênciasDocumento20 páginasMetodologias ativas no ensino de Ciênciasanon_883543840Ainda não há avaliações
- Respostas de um Lama sobre temas esotéricosDocumento18 páginasRespostas de um Lama sobre temas esotéricosteddmAinda não há avaliações
- Chico Science (A Rapsódia Afrociberdélica) - Moisés NetoDocumento154 páginasChico Science (A Rapsódia Afrociberdélica) - Moisés NetoIlo GuAinda não há avaliações
- Livro 7 AnoDocumento480 páginasLivro 7 AnoKaauu Ferreira100% (3)
- E-Book Max Weber 2016 0Documento250 páginasE-Book Max Weber 2016 0ThiaguinhoTrumpetElias100% (2)
- A Preparação de Sermões - A. W. Blackwood PDFDocumento145 páginasA Preparação de Sermões - A. W. Blackwood PDFCharlesInd100% (3)
- Silvio Santos e jogos publicitáriosDocumento95 páginasSilvio Santos e jogos publicitáriosRafaela CaminhaAinda não há avaliações
- 1 5019568741722095761 PDFDocumento84 páginas1 5019568741722095761 PDFJoicy LopesAinda não há avaliações
- Psico - Aula-02Documento60 páginasPsico - Aula-02leocaobelli2022Ainda não há avaliações
- Marcio Peter de Souza Leite - Ensaios - Mal-Estar No CapitalismoDocumento2 páginasMarcio Peter de Souza Leite - Ensaios - Mal-Estar No Capitalismothiagosilva26Ainda não há avaliações
- Comunicacao Empresarial 2018Documento192 páginasComunicacao Empresarial 2018Matheus MottaAinda não há avaliações
- CIGRA - C Art - Técnicas de ArtilhariaDocumento70 páginasCIGRA - C Art - Técnicas de ArtilhariaycruzcostaAinda não há avaliações
- Show de QuímicaDocumento41 páginasShow de QuímicaMaria Julia de GênovaAinda não há avaliações
- Estrategias de EnsingemDocumento21 páginasEstrategias de Ensingemdavidvieira2Ainda não há avaliações
- UntitledDocumento370 páginasUntitledtiago_fuocoAinda não há avaliações
- Teoria Do Estabelecimento EmpresarialDocumento5 páginasTeoria Do Estabelecimento Empresarialdaniela2019 MuryAinda não há avaliações
- Um Estudo Das Principais Características Da Escrita de Dalton Trevisan Por Meio Da Análise Literária de O Vampiro de Curitiba (Francine de Oliveira Palma)Documento36 páginasUm Estudo Das Principais Características Da Escrita de Dalton Trevisan Por Meio Da Análise Literária de O Vampiro de Curitiba (Francine de Oliveira Palma)João Paulo Hergesel100% (1)
- Funções executivas: habilidades cognitivas que permitem o controle e regulação do comportamentoDocumento116 páginasFunções executivas: habilidades cognitivas que permitem o controle e regulação do comportamentoKatrine Guimaraes100% (1)
- Normas e padrões alimentaresDocumento74 páginasNormas e padrões alimentaresNayane A. ResendeAinda não há avaliações
- Projeto Da Eletiva - 02-2023Documento15 páginasProjeto Da Eletiva - 02-2023Vivian NascimentoAinda não há avaliações
- O Mundo Interior de Machado de AssisDocumento10 páginasO Mundo Interior de Machado de AssisViniciusmangaAinda não há avaliações
- Fundamentos das Ciências da ReligiaoDocumento74 páginasFundamentos das Ciências da ReligiaoElias DamasioAinda não há avaliações
- TRISTÃO DE ATAÍDE, Plano Cultural InteramericanoDocumento281 páginasTRISTÃO DE ATAÍDE, Plano Cultural InteramericanoKéssia AraujoAinda não há avaliações