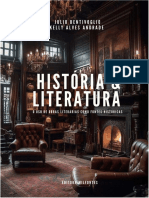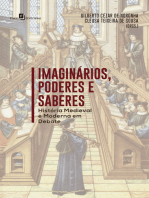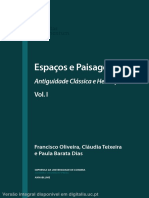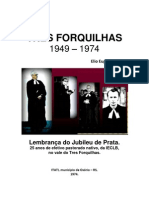Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ELMIR, Cláudio Pereira. O Que A Micro-História Tem A Nos Dizer Sobre o Regional e o Local
Enviado por
Fabio NobreTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ELMIR, Cláudio Pereira. O Que A Micro-História Tem A Nos Dizer Sobre o Regional e o Local
Enviado por
Fabio NobreDireitos autorais:
Formatos disponíveis
HISTÓRIA
Revista do Programa de Pós-Graduação em História
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 2004 208 p.
Historia10.p65 1 24/1/2005, 11:38
Historia10.p65 2 24/1/2005, 11:38
Sumário
Apresentação
Cláudio Pereira Elmir e Marluza Marques Harres / 7
Dossiê Teoria e Metodologia da História
Narrativa, cor local e ciência. Notas para um debate sobre o
conhecimento histórico no século XIX
Temístocles Cezar / 11
A narrativa e o conhecimento histórico
Cláudio Pereira Elmir / 35
A marca pedagógica da narrativa: um princípio educativo?
(Comentários a Temístocles Cezar e Cláudio Elmir)
Edla Eggert / 53
Crônica: fronteiras da narrativa histórica
Sandra Jatahy Pesavento / 61
Histórias e memórias da cidade nas crônicas de Aquiles Porto
Alegre (1920-1940)
Charles Monteiro / 81
Pequenas notas sobre a escrita do ensaio
Antônio Marcos Vieira Sanseveino / 97
A escrita herege. O fim do texto e do sujeito filosófico
Márcia Tiburi / 107
O ensaio (Comentários a Antônio Sanseverino e Márcia Tiburi)
Eliane Cristina Deckmann Fleck / 123
Historia10.p65 3 24/1/2005, 11:38
Grafia da vida: reflexões sobre a narrativa biográfica
Benito Bisso Schmidt / 131
Aproximações entre história de vida e autobiografia: os desafios
da memória
Marluza Marques Harres / 143
O que a Micro-História tem a nos dizer sobre o regional e o
local?
Núncia Santoro de Constantino / 157
O corpo e a alma do mundo. A micro-história e a construção do
passado
Sandra Jatahy Pesavento / 179
O que a micro-história tem a nos dizer sobre o regional e o local?
(Comentários a Núncia Constantino, Regina Weber e Sandra
Pesavento)
Cláudio Pereira Elmir / 191
Historia10.p65 4 24/1/2005, 11:38
Table of Contents
Presentation
Cláudio Pereira Elmir and Marluza Marques Harres / 7
Dossier on Theory and Methodology of History
Narrative, Local Color and Science. Notes for a Debate on
Historical Knowledge in the 19th Century
Temístocles Cezar / 11
Narrative and Historical Knowledge
Cláudio Pereira Elmir / 35
The Pedagogical Mark of the Narrative: An Educational
Principle?
(Comments on the Papers by Temístocles Cezar and Cláudio Elmir)
Edla Eggert / 53
Chronicle: At the Border of Historical Narrative
Sandra Jatahy Pesavento / 61
Stories and Memories of the City in the Chronicles by Aquiles
Porto Alegre (1920-1940)
Charles Monteiro / 81
Brief Notes on the Writing of an Essay
Antônio Marcos Vieira Sanseverino / 97
Heretical Writing. The End of the Text and of the Philosophical
Subject
Márcia Tiburi / 107
Historia10.p65 5 24/1/2005, 11:38
The Essay (Comments on the Papers by Antônio Sanseverino and
Márcia Tiburi)
Eliane Cristina Deckmann Fleck / 123
The Writing of Life: Reflections on Biographical Narrative
Benito Bisso Schmidt / 131
The Relationship between Life Story and Autobiography: The
Challenges of Memory
Marluza Marques Harres / 143
What Has Micro-History to Tell us about the Regional and the
Local?
Núncia Santoro de Constantino / 157
The Body and the Soul of the World. Micro-History and the
Construction of the Past
Sandra Jatahy Pesavento / 179
What Has Micro-History to Tell us about the Regional and the
Local? (Comments on the Papers by Núncia Constantino, Regina
Weber and Sandra Pesavento)
Cláudio Pereira Elmir / 191
Historia10.p65 6 24/1/2005, 11:38
A escrita da história
É com enorme satisfação que oferecemos à comu-
nidade acadêmica da história mais um número da nossa
História UNISINOS. E, pela primeira vez, trazemos um
dossiê dedicado inteiramente à discussão de questões teó-
rico-metodológicas pertinentes ao nosso campo de conhe-
cimento. Todos sabemos das dificuldades por que passa-
mos quando nos vemos diante da difícil tarefa de enunci-
ar os pressupostos conceituais que orientam as nossas pes-
quisas. Ao lado disto, são raros os trabalhos de historiado-
res – ou de candidatos a historiadores – que se aventu-
ram, com centralidade, pela complicada seara da discus-
são teórica. Esta relativa ausência é menos sentida no de-
bate historiográfico, pelo menos aparentemente. Isto por-
que há inúmeros trabalhos historiográficos nos quais resta
inexistente a (auto-) reflexão acerca dos princípios
epistemológicos que norteiam sua realização.
Tendo em vista este cenário de dificuldades e de
poucas manifestações de ousadia intelectual, é que reali-
zamos no ano de 2003 três importantes atividades acadê-
micas promovidas pelo Programa de Pós-Graduação em
História da UNISINOS, parte das quais resultou na pu-
blicação deste dossiê. Em maio daquele ano, juntamente
com o Curso de Graduação em História da nossa univer-
sidade e com o GT Teoria da História e Historiografia da
ANPUH-RS, realizamos o Seminário A escrita da histó-
ria: modos (I). O nosso empenho, expresso nos objetivos
do evento, foi plenamente alcançado. Naquela ocasião,
Historia10.p65 7 24/1/2005, 11:38
dizíamos: “O Seminário ‘A escrita da história: modos (I)’
quer se constituir num espaço de reflexão qualificada so-
bre algumas das diferentes formas pelas quais a história
tem se realizado como escritura. Nas últimas décadas, o
debate historiográfico no âmbito teórico tem suscitado
renovadas perspectivas de se entender o labor do histori-
ador em suas mais variadas configurações. Nesse sentido,
foram eleitos para reflexão e aprofundamento a narrativa,
a crônica, o ensaio e a biografia. Através destes ‘modos de
escritura’ revela-se, em alguma medida, o próprio enten-
dimento acerca do ofício historiográfico.” Tivemos, na
ocasião, a melhor receptividade possível, lotando o Au-
ditório Central da universidade com mais de 250 inscri-
ções formais, além dos assistentes eventuais.
Em agosto daquele mesmo ano, juntamente com a
Profa. Maria Cristina Bohn Martins, organizamos um ou-
tro espaço de discussões. No dia 26 de agosto, nos três
turnos, promovemos o Fórum Escala e legitimidade no
saber histórico: desafios da pesquisa na pós-graduação.
Dizíamos na sua apresentação: “O Fórum ‘Escala e legiti-
midade no saber histórico: desafios da pesquisa na pós-
graduação’ quer se constituir num espaço de reflexão teó-
rico-metodológica e de troca de experiências sobre os ru-
mos da pesquisa docente e discente realizada nos progra-
mas de pós-graduação em História sediados no Rio Gran-
de do Sul. Neste sentido, o Fórum está estruturado sob a
forma de três mesas-redondas e uma comunicação de pes-
quisa, nas quais devem ser abordados os seguintes tópi-
cos: diagnóstico institucional e perspectivas do conheci-
mento produzido nos quatro programas de pós-graduação
8 em História do Estado; os diferentes níveis de abordagem
do conhecimento histórico e a tensão entre o ‘episódico’
e o ‘estrutural’ na produção acadêmica advinda dos PPGs
e a apropriação historiográfica do ‘local’ e do ‘regional’ e
sua inserção no debate recente da micro-história.” Alguns
dos textos desta última mesa compõem também o pre-
sente dossiê. Um outro texto, de excepcional valor refle-
xivo, de autoria de Sílvia Petersen, foi publicado em nú-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 8 24/1/2005, 11:38
mero recente de nossa revista, cuja atenta leitura reco-
mendamos. 1
Na primeira semana de novembro, com a parceria
do Prof. Paulo Roberto Staudt Moreira e com o apoio do
GT Acervos da ANPUH-RS, promovemos, juntamente
com o Curso de História, o Ciclo de Palestras As fontes
do inquérito (I), com o intuito de discutir, discrimi-
nadamente, o uso que fazemos dos documentos que inte-
ressam à investigação historiográfica. Dizíamos naquela
oportunidade, acerca da importância desta atividade: “[...]
o ciclo [...] pretende se constituir num fórum para a apre-
sentação e discussão de tipos específicos de fontes docu-
mentais que podem estar no horizonte do pesquisador do
campo das Ciências Humanas. Neste sentido, o Ciclo quer
realizar um esforço de sistematização das possibilidades
teórico-metodológicas de abordar estes documentos, ten-
do em vista a realização de um diálogo entre as diferentes
disciplinas desta área e, mais especificamente, das investi-
gações que seus pesquisadores têm levado a efeito, nos
vários níveis de especialização”. Integraram o rol das abor-
dagens naquela primeira edição a música, os inventários,
as fontes seriais e quantitativas, a documentação diplo-
mática e os documentos privados. Um de seus textos, so-
bre o uso de fontes quantitativas e seriais, de autoria de
Adhemar Lourenço da Silva Júnior, afortunadamente, já
foi publicado em nossa revista.2
É no movimento deste intenso debate, de caráter
ao mesmo tempo teórico, metodológico e historiográfico,
que reunimos aqui alguns textos que poderão servir de
estímulo a outras intervenções críticas, com o intuito de
qualificar nosso acesso a um conhecimento histórico que 9
1 Ver o texto de Sílvia Regina Ferraz Petersen, 2003, “Escala e legitimidade no
saber histórico: desafios da pesquisa na pós-graduação”, História UNISINOS,
7(8):171-188.
2 Trata-se do artigo de Adhemar Lourenço da Silva Júnior, 2003, “Números na
História: apontamentos sobre o uso de fontes quantitativas e seriais”, publica-
do na História UNISINOS, 7(8):189-223.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 9 24/1/2005, 11:38
se quer sempre mais sofisticado, porquanto iluminado pela
imprescindível tarefa da auto-reflexão sobre o nosso pró-
prio ofício. Agradecemos aos Editores da História
UNISINOS pela oportunidade de organizar este dossiê.
Boa leitura!
Cláudio Pereira Elmir
Marluza Marques Harres
Organizadores
10
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 10 24/1/2005, 11:38
Narrativa, cor local e ciência.
Notas para um debate sobre o
conhecimento histórico no século XIX
Temístocles Cezar*
Abstract
The purpose of this text is to propose a discussion
over historical knowledge in the 19th century, from notions
of narrative, local colour and science.
Key words: Theory of history – narrative – local colour –
science.
Resumo
O objetivo deste texto é o de propor um debate
acerca do conhecimento histórico no século XIX, a partir
das noções de narrativa, cor local e ciência.
Palavras-chave: Teoria da história – narrativa – cor local –
ciência. 11
*
Professor do Curso de Graduação e no Programa de Pós-Graduação em Histó-
ria da UFRGS. Doutor em História pela EHESS de Paris.
**
Uma versão anterior deste trabalho foi apresentada no Seminário “A escrita da
história: modos (I)”, no dia 26 de maio de 2003, promovido pelo Curso de
Graduação e pelo Programa de Pós-Graduação em História da UNISINOS/RS,
com o apoio do GT Teoria da História e Historiografia da ANPUH/RS.
HISTÓRIA
HISTÓRIAUNISINOS
UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ p.2004
11-34
Historia10.p65 11 24/1/2005, 11:38
Para Carine Flickinger
O pensamento histórico, em todas as suas formas e versões, está
condicionado por um determinado procedimento mental de o
homem interpretar a si mesmo e a seu mundo: a narrativa de
uma história. Narrar é uma prática cultural de interpretação do
tempo, antropologicamente universal. A plenitude do passado
cujo tornar-se presente se deve a uma atividade intelectual a
que chamamos de “história” pode ser caracterizada, categorica-
mente, como narrativa. O pensamento histórico obedece, pois,
igualmente por princípio, à lógica da narrativa. Essa tese é
tratada, na teoria da história, como o paradigma narrativista.
Esse paradigma foi objeto de uma curiosa mescla de entusiasmo
e de rejeição (Jörn Rüsen, 2001, p. 149).
A história é filha da narrativa (François Furet, 1992,
p. 81).
Canto VIII da Odisséia. A cena é famosa, mas
vale a pena relembrá-la. Ulisses, náufrago solitário, de-
sembarca junto aos feácios. Em um banquete em sua
homenagem, escuta Demódoco, o aedo cego, narrar sua
própria história: aquela do cavalo de madeira e a que-
da de Tróia. A narrativa de Demódoco é tão precisa
que parece produto de um testemunho ocular:
“Demódoco, acima, sim, de todos os mortais te louvo;
Ou a Musa te ensinou, filha de Zeus, ou Apolo, Pois
muito em ordem o fado dos aqueus cantas, Quanto fi-
zeram e sofreram e quanto suportaram, Como se, em
12 parte, estivesses presente ou o ouvisses de outro”
(Homere, 1992, p. 137). Ulisses, surpreso, é dominado
por uma intensa comoção. Ele chora. Essa passagem
comporta uma singularidade: a presença de Ulisses, lá
na Ilíada e aqui na Odisséia. Ulisses é aquele que atesta
a veracidade dos fatos (independentemente de
Demódoco ter recebido tais informações da Musa); ele
é a prova de que aquilo realmente aconteceu (Hartog,
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 12 24/1/2005, 11:38
2000, p. 389). 1 Memória, narrativa, prova: como não
perceber esta cena primitiva como um relato que funda,
ainda que metaforicamente, ou poeticamente, como diz
Hannah Arendt (1992, p. 74-75), a história?
Mas são os dois grandes historiadores da Antiguida-
de, Heródoto e Tucídides, que foram reconhecidos como
os inventores do gênero. Diferentes, certo, mais ainda
paradigmáticos. Assim, enquanto Heródoto escreve para
que “os acontecimentos provocados pelos homens, com
o tempo, não sejam apagados, nem as obras grandes e
admiráveis, trazidas à luz tanto pelos gregos como pelos
bárbaros, se tornem sem fama” (Hérodote, 1964, p. 51-
52), Tucídides escreve a história (mesmo que a palavra
“história” não apareça em sua narrativa) da guerra dos
peloponésios e atenienses a partir de indícios que, para
ele, “não erraria quem considerasse que essas coisas acon-
teceram como expus, não acreditando em como os poe-
tas as cantaram, adornando-os para torná-las maiores, nem
em como os logógrafos as compuseram, para serem mais
atraentes para o auditório, em vez de mais verdadeiras, já
que é impossível comprová-las e a maior parte delas, sob
a ação do tempo, acabou forçosamente por tornar-se fá-
bula que não merece fé” (Thucydide, 1964, p. 705-706).
Enfim, a diégesis tucidiana, ou seja a narrativa, tal como
uma obra de arte, é uma “aquisição para sempre”. Desse
modo, se Heródoto é aquele que historeî (a conjugação do
verbo grego historieîn, por sua vez derivado de hístor – que
remete etimologicamente a ideîn – “ver” – e a (w)oida –
“saber”) 2 , que reivindica um espaço para seu saber, atra-
vés da visão, Tucídides é aquele que coloca a história no
plano da verdade “científica”; segundo David Hume (apud 13
Hartog, 1982, p. 22), “a primeira página de Tucídides é o
início da história verdadeira (real history)”. Mas nem um
nem o outro deixaram indicações ou registros sobre como
a história devia ser escrita ou narrada.
1
Do mesmo autor, ver também 2003, p. 20-22.
2
Sobre a noção de hístor, ver Benveniste (1969, p. 173).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 13 24/1/2005, 11:38
Em 165 de nossa era, no entanto, Luciano de
Samósata afirmava em um tratado, cujo título por si só é
pleno de significados – Como se deve escrever a história – a
seguinte passagem: “portanto, assim deve ser para mim o
historiador: sem medo, incorruptível, livre, amigo da fran-
queza e da verdade; como diz o poeta cômico, alguém
que chame os figos de figos e a gamela de gamela; alguém
que não admita nem omita nada por ódio ou por amiza-
de; que a ninguém poupe, nem respeite, nem humilhe;
que seja juiz equânime, benevolente com todos até o ponto
de não dar a um mais que o devido; estrangeiro nos livros,
apátrida, autônomo, sem rei, não se preocupando com o
que achará este ou aquele, mas dizendo o que se passou”
(Luciano, 2001, p. 225-233).
Sendo assim, desde suas origens gregas, a história
obedeceu a uma dupla exigência. Ela deve dar conta de
um certo número de coisas e procurar a explicação delas
através da identificação de certas causas. Esse trabalho
requeria um texto que colocasse em ordem aquilo que foi
pesquisado e pensado. Com efeito, para que a análise fos-
se bem recebida, era necessário que ela fosse capaz de tra-
zer consigo a adesão do leitor, ou seja, que fosse capaz de
convencê-lo. A relação entre a produção textual e seus
efeitos foi sintetizada pela retórica latina através da se-
guinte fórmula: da evidentia in narratione. Jacques Revel
(2001, p. 13), tomando por base um trabalho de Arnaldo
Momigliano, explica que a primeira preocupação (evidên-
cia) provinha da esfera da observação medical (ou seja,
do mesmo vocabulário de onde emerge o nome historia);
enquanto a segunda (narratio, narrativa), da eloqüência
14 judiciária.
II
Essa orientação teórico-metodológica, essa introdu-
ção aos estudos históricos de Luciano nos remete para um
campo cuja fertilidade foi significativa no século XIX.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 14 24/1/2005, 11:38
Porém, entre os antigos e os historiadores científicos
oitocentistas, existem muitas intermediações e muitos
caminhos alternativos. Nesse sentido, é preciso que
reavaliemos a idéia de que a cultura histórica dos séculos
XIV e XV, momento em que os humanistas empregam-se
na tarefa de restaurar a validade dos modelos greco-ro-
manos, não passa da reabilitação de uma herança intelec-
tual. Mais do que isso, trata-se de uma escolha conscien-
te, uma opção entre outras possíveis: “a maneira de se
escrever a história foi nos tempos modernos, pela escolha
dos autores, uma confrontação permanente com os origi-
nais gregos e com aquilo que os romanos fizeram de seus
modelos” (Momigliano, 1983, p. 15-16).
A famosa querela entre os antigos e os modernos
(mais ou menos iniciada com Petrarca no século XIV e
que se estende até o século XVIII, passando por nomes
ilustres como Montaigne, Malebranche, Perrault, Swift,
Fénelon, Vico, Madame Dacier, chegando a Voltaire e a
Winckelmann), onde os primeiros não vêem senão a de-
cadência nos segundos, enquanto esses ou proclamam a
igualdade das duas épocas, ou fazem os modernos benefi-
ciarem-se da acumulação de conhecimento ou experiên-
cia, ou ainda invocam a idéia de um progresso qualitati-
vo, insere-se nesta longa duração que compõe a genealogia
das formas de se escrever a história no Ocidente.3
O século XVIII não se caracteriza apenas pelo iní-
cio do esgotamento da querela entre os antigos e os mo-
dernos. Nele também se assiste à “era dos antiquários”,
que marca não apenas uma revolução no gosto, mas uma
“revolução” no método histórico, na medida em que a
partir desta figura gêmea do historiador – o antiquário – 15
foram fixadas normas e colocados certos problemas
metodológicos fundamentais, entre os quais as questões
dos documentos (a distinção entre fontes primárias e se-
3
Sobre a querela entre antigos e modernos, ver Fumaroli (2001, p. 7-218); ver
também Kriegel (1996a, p. 269-280).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 15 24/1/2005, 11:38
cundárias, e a utilidade de testemunhos não escritos, por
exemplo), dos modelos narrativos da história (neste caso
da história antiga) ou ainda problemas teóricos como a
distinção entre a organização e a interpretação dos fatos.64
A época das Luzes também é marcada pela emer-
gência de pensadores que refletiram sobre a história. Em
1762, por exemplo, Rousseau, no Emílio, afirma que
“Tucídides é o verdadeiro modelo de historiador”, pois
ele “narra os fatos sem os julgar. Ele coloca tudo aquilo
que narra diante dos olhos do leitor; longe de se interpor
entre os acontecimentos e os leitores, ele se subtrai; acre-
ditamos não mais ler, acreditamos ver”. Já o “bom
Heródoto, sem retratos, sem máximas, mas agradável, in-
gênuo, pleno de detalhes capazes de interessar e de causar
prazer, se esses mesmos detalhes não degenerassem
freqüentemente em simplicidades pueris, mais úteis para
estragar a juventude do que para formá-la”, requer
“discernimento” para ser lido (Rousseau, 1966, p. 311).
Por outro lado, Gabriel Bonnot, o abade de Mably,
em um estudo publicado em 1783, em que trata especifi-
camente da escrita histórica, ressalta a capacidade que a
narrativa tucidiana tinha de transpor o passado à visão
contemporânea, porém valorizando sua dimensão estéti-
ca (Mably, 1775 e 1783).5 Assim, ao se dar conta do pra-
zer que a leitura de certos discursos de determinados his-
toriadores lhe causavam, Mably (1783, p. 323) faz um
alerta epistemológico: “cuidado para não se introduzir o
romance na história”. Contudo, a parte ficcional do texto
histórico, responsável por essa repercussão prazerosa, não
causaria perturbações aos leitores, pois além de tornar “a
16 verdade mais agradável à nossa razão”, ela “anima uma
narração; nós esquecemos o historiador, e nos encontra-
4
Sobre essa questão, ver Momigliano (1983, p. 244-293) e Kriegel (1996b, p.
221-264); ver também Guimarães (2000, p. 111-143), sobretudo a parte
dedicada às relações entre o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e a
Sociedade dos Antiquários do Norte da Dinamarca durante o século XIX.
5
Uma versão resumida do texto de 1783 encontra-se em Mably (1982).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 16 24/1/2005, 11:38
mos em comércio com os maiores homens da Antiguida-
de, penetramos seus segredos, e suas lições se gravam mais
profundamente no nosso espírito. Eu estou presente nas
deliberações e em todos os negócios; não é mais uma nar-
rativa, é uma ação que se passa diante de meus olhos”
(Mably, 1783, p. 324). Finalmente, para Mably não ha-
verá história que seja ao mesmo tempo instrutiva e
aprazível, sem uma narrativa que incorpore discursos pro-
dutos da imaginação do historiador. Um dos seus exem-
plos é Tucídides: “tente suprimi-los de sua obra e não
terá mais do que uma história sem alma”. 6 Tanto
Rousseau como Mably chamam a atenção para um pro-
blema teórico cuja resolução se tornará, ao longo do sé-
culo XIX, fundamental à consolidação da história como
ciência: uma narrativa objetiva e neutra. O filtro cientí-
fico segregará os textos marcados pela faculdade da ima-
ginação desviando-a cada vez mais para o campo da li-
teratura e das artes.7
III
É, porém, com a filosofia da história de Voltaire que
se inaugura uma série de proposições que, de certa forma,
prenuncia os paradigmas da escrita que se impõem no sé-
culo XIX.8 Já no seu Dicionário Filosófico, de 1764, ele deixa
6
Ibid. Para Dionisio de Halicarnasso, “desse modo Tucídides violava os critérios,
estabelecidos por ele mesmo, para justificar a inclusão de discursos na sua
própria obra (I,22)”; citado por Ginzburg (2002, p. 16).
7
Neste mesmo contexto, um pouco antes e na Alemanha, Johann Martin
Chladenius publica em 1752 Allgemeine Geschichtswissenschaft (Ciência da Histó- 17
ria), um importante tratado sobre o método histórico, no qual lança as bases de
um modelo hermenêutico para uma historiografia cujo curso do tempo estimu-
la sua reescritura incessantemente e também para uma certa “relatividade” das
interpretações históricas. De Chladenius, ver os excertos (Chladenius, 1988, p.
54-71). Ver também os comentários de Koselleck (1990, p. 272-273; 1997, p.
74-77).
8
A expressão surge em 1765, quando Voltaire, sob o pseudônimo de abade
Bazin, publica em Amsterdã La philosophie de l’histoire (edição moderna, Gene-
bra, Brumfitt, 1963). Em 1774, Herder publica a crítica à filosofia volteriana
em Auch eine philosophie der geschichte, traduzida para o francês como Une autre
philosophie de l‘histoire (edição moderna bilíngüe: Paris, Aubier, Éd. Montaigne).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 17 24/1/2005, 11:38
claro o que entende por história: “ela é a narração de fatos
considerados verdadeiros, ao contrário da fábula, narra-
ção de fatos considerados falsos” (Voltaire, 1829, p. 191-
192). Além disso, no mesmo verbete, Voltaire preocupa-
se particularmente com a maneira de se escrever a histó-
ria. Em primeiro lugar, não bastaria aos historiadores mo-
dernos imitarem os antigos. O fardo que eles têm a supor-
tar é muito mais pesado do que o era para Tito-Lívio,
Tácito, Políbio ou Dionísio de Halicarnasso. Dos moder-
nos são exigidos “mais detalhes, fatos mais constatados,
datas precisas, autoridades, mais atenção aos costumes, às
leis, aos usos, ao comércio, às finanças, à agricultura, à
população” (Voltaire, 1829, p. 220). Diante dessas difi-
culdades, o método mais conveniente para se escrever a
história seria aquele que levasse em consideração certas
diferenças. Por exemplo, a maneira conveniente para se
escrever a “história do seu país não é próprio para descre-
ver as descobertas do Novo Mundo”, bem como “não se
deve escrever sobre uma aldeia como se escreve sobre um
império, [...] não se pode escrever a história privada de
um príncipe como se fosse a da França e a da Inglaterra”
(Voltaire, 1829, p. 222-223). No entanto, embora, se-
gundo Voltaire, essas regras sejam bem conhecidas, “a arte
de bem escrever a história sempre será rara. Sabe-se que é
necessário um estilo grave, puro, variado, agradável. Exis-
tem leis para escrever a história como há para todas as
artes do espírito; como nessas, há muitos preceitos e pou-
cos grandes artistas” (Voltaire, 1829, p. 223).
Essa concepção mais formal de história presente no
Dicionário relaciona-se à idéia de que a narrativa histórica
18 deve preocupar-se menos com as revoluções do trono do
que com o destino dos homens. “O objetivo deste traba-
lho – lemos na introdução do Essai sur les mœurs – não é
saber em qual ano um príncipe indigno de ser conhecido
sucedeu a um príncipe bárbaro de uma nação grosseira”;
é ao “espírito, aos costumes”, enfim, ao “gênero humano
que é necessário prestar atenção na história” (apud Kriegel,
1996aI, nota 67, p. 289). À busca dos costumes, tema
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 18 24/1/2005, 11:38
central na história volteriana, corresponde a tentativa de
recuperar o passado dos povos, da civilização e da cultu-
ra. Para Voltaire, entretanto, as nações não são iguais: as
melhores, tais como as opiniões, são aquelas que fazem
progredir a razão. Voltaire situa-se, assim, próximo da-
queles que (como Condorcet, Turgot e Lessing) estabele-
cem as premissas da ideologia do progresso e a definição
do que seja a civilização, noções fundamentais para a maior
parte das correntes historiográficas do século XIX. Con-
tudo, é preciso ressaltar que ao operar uma divisão entre
civilização e barbárie, e no homem a separação entre pai-
xão e razão, Voltaire condena à irracionalidade toda uma
parte da história dos homens e das sociedades.9 Os histo-
riadores cientistas do século XIX, mas não só eles, são
herdeiros dessa história filosófica. Seus modelos narrati-
vos são influenciados, direta ou indiretamente, por esse
indiscutível alargamento do campo historiográfico que
aprofunda a reflexão sobre o próprio sentido da história.10
IV
A consolidação do paradigma científico no século
XIX, no entanto, não se fez de modo rápido, muito menos
consensual. Assim, se, por um lado, não é difícil traçar
um paralelo entre o que diz Luciano e o postulado defini-
do por Ranke, aquele que instruía o historiador a “mos-
trar como algo realmente aconteceu” (wie es eigentlich
gewesen, Ranke, 1824, p. VII), ou a trabalhos como o de
W. Humboldt, o de G. Monod, o de C. V. Langlois e C.
Seignobos, cujas obras tornaram-se referências para a de- 19
finição de uma história científica (sobretudo o levanta-
9
Ibid., p. 298.
10
A influência de Voltaire não se limita ao século XIX. Kriegel chega a falar que
suas concepções equivalem “quase” ao programa dos Annales (ibid., p. 292-
293). Jacques Le Goff confirma esta impressão ao colocar Voltaire como um
dos pais da nouvelle histoire francesa, representada pelas diversas gerações dos
Annales; ver Le Goff (1988, p. 47-48).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 19 24/1/2005, 11:38
mento exaustivo de fontes e um texto objetivo), por ou-
tro, é preciso considerar que as regras e princípios
metodológicos que vinham sendo estabelecidos por uma
disciplina que tentava se instaurar não eram seguidos in-
condicionalmente. A vitória da ciência foi precedida por
inúmeras controvérsias, entre as quais as formas de narrar
a história. Um exemplo significativo é o debate em torno
da noção da cor local pelos chamados historiadores
narrativistas da primeira metade do século XIX .
Derivada da técnica pictorial do século XVII, asso-
ciada de um modo ou de outro às metáforas provenientes
dos domínios da pintura, do desenho, da paisagem, a cor
local é um recurso narrativo que encontra suas primeiras
teorizações no contexto do romantismo e do romance his-
tórico. Walter Scott (1771-1832), René Chateaubriand
(1768-1848), Augustin Thierry (1795-1856), Prosper
Barante (1782-1866) e Victor Cousin (1792-1867) são
referências importantes desse movimento. Pode-se dizer
que os historiadores procuram a cor local da mesma ma-
neira que fazem os romancistas e poetas, na medida em
que ela “se inscreve no quadro de uma busca das origens,
em virtude das quais cada coisa deve ser recolocada em
‘seu lugar’” (Flickinger, 1995, p. 6.). 11 Essa perspectiva é
válida para a Inglaterra e a França, e também para o Bra-
sil, que se insere no mesmo percurso a partir da fundação
do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em 1838,
instituição fortemente influenciada pelo romantismo eu-
ropeu. 12
Pensar o tema da cor local como um recurso narra-
tivo para a história passa pela questão do estatuto de ve-
20
11
Da mesma autora, ver também 1996, p. 27-37. Eu agradeço à professora Carine
Flickinger (Universidade de Genebra) por me passar seus textos.
12
Por exemplo: Barante é citado por Januário da Cunha Barbosa, primeiro secre-
tário do IHGB, no seu Discurso de fundação da instituição, enquanto
Chateaubriand e Victor Cousin pelo visconde de São Leopoldo, primeiro pre-
sidente do IHGB, no seu “Programa Histórico”. Os dois textos estão publica-
dos na Revista do IHGB, 1839, 1, respectivamente p. 13 e p. 65. Ver também
Coutinho (1968, p. 7).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 20 24/1/2005, 11:38
racidade do texto histórico. A idéia geral é a de que os
quadros históricos devem ser pintados com as verdadeiras
cores do passado. Carine Flickinger explica que “o ideal
que se subentende na noção de ‘cor local’ é aquele da
‘vida’ ou da ‘realidade’ fielmente reproduzida. O artista se
atribui dons de observador quase ilimitados, pois ele pode
‘ver’ a ‘realidade’ em toda a sua multiplicidade, atravessar
fronteiras – geográficas e mentais – e mesmo, pelo poder
‘mágico’ de sua imaginação, viajar no tempo. A
intermediação da linguagem não compromete em nada
essas faculdades: o escritor pode retranscrever tudo aqui-
lo que ‘viu’” (Flickinger, 1995, p. 34-35). Além disso, para
reproduzir a cor, o historiador deve se submeter a uma
outra exigência (que se torna uma característica da narra-
tiva científica moderna): aceitar apagar a si mesmo como
autor. Aquilo que poderia contribuir mais para recons-
tituição fiel da cor local seria, declara Barante, “fazer de-
saparecer inteiramente o traço de meu próprio trabalho,
de nada mostrar do escritor de nosso tempo” (apud Hartog,
1986, p. 58). A cor local, sem mediações, é assim a repre-
sentação exata da história.
A historiografia da primeira metade do século XIX
é plena de depoimentos nesse sentido. Em 1824, por exem-
plo, Adolphe Thiers assinala que o progresso da maneira
de se escrever a história, de reproduzir os costumes e o
caráter dos tempos passados está associado à conservação
da cor local de cada época (Thiers, 1824, p. 120-121). Já
Augustin Thierry, em 1827, acredita que “a história, para
pintar as diferentes épocas, não deva mais utilizar nem
dissertações nem retratos secundários para representar fi-
elmente os diferentes personagens. Os homens e mesmo 21
os séculos passados devem entrar em cena na narrativa:
devem mostrar-se vivos; e não é necessário que o leitor
tenha necessidade de virar cem páginas para aprender qual
era o verdadeiro caráter dessas pessoas. Isolar os fatos da-
quilo que constitui sua cor e sua fisionomia individual é
um método falso; e não é possível que o historiador possa
primeiro narrar bem sem pintar, e em seguida pintar sem
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 21 24/1/2005, 11:38
narrar. Aqueles que adotaram essa maneira de escrever
quase sempre negligenciaram a narrativa, que é parte
essencial da história, para comentários ulteriores que de-
vem dar a chave do relato” (Thierry, 1884, p. 71). Le-
mos ainda no começo do Prospectus da Histoire de la
conquête de l’Angleterre par le Normands de Thierry, pu-
blicado em 1825, que “o historiador que deseja respon-
der às necessidades da época atual deve se esforçar para
dar aos eventos sua verdadeira cor e pintar com uma
escrupulosa fidelidade os hábitos, os costumes, a língua
e o caráter dos povos que coloca em cena”. Com efeito,
“ele deve separar os fatos das falsas aparências que lhes
deram os sistemas engenhosos, mas muito ligeiramente
concebidos, da maior parte dos escritores modernos”
(Thierry, 1825, p. 1-2). 13
As posições de Barante (1848, p. 400) não são
muito diversas: “a história, na sua acepção mais geral, é a
narrativa dos fatos. Ela deve, portanto, variar segundo seu
caráter, no seu aspecto segundo os fato narrados, e segun-
do aquele que as narra. Ela ensina os tempos decorridos,
não somente em relação aos acontecimentos; mas ainda,
e sobretudo quando foi escrita pelos contemporâneos, ela
representa o espírito, a vida moral de cada época. A arte
histórica, como todas as artes, teve e deve ter suas fases
determinadas pela civilização. Assim, da mesma forma que
os homens e os povos nem sempre pensaram e agiram do
mesmo modo, também não viram os fatos sob o mesmo
aspecto. Aquilo que foi o gênero humano, a história o foi:
é justo que a pintura varie conforme o modelo.”
Victor Cousin amplia as margens do debate ao es-
22 crever em seu curso de philosophie de l’histoire, de 1823,
que “as cores do historiador, quer dizer, a maneira pela
qual descreve os acontecimentos, devem ser, como suas
idéias, particulares e locais, pois elas se aplicam a qual-
13
Para um comentário explicativo, ver Gauchet (1986, p. 251-252). Ver também
Gosmann (1990, p. 257-284) e Hartog (1986, p. 57-58).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 22 24/1/2005, 11:38
quer coisa de particular: encarregada de dar vida ao pas-
sado e de reproduzir a realidade, elas devem se imprimir
fortemente daquilo que constitui a realidade e a vida; elas
devem ser individuais e determinadas”. Desse modo, as
cores “serão brilhantes e fortes, e ao mesmo tempo natu-
rais, e o historiador poderá ser pintor e poeta sem sair de
seu assunto, sem faltar com a gravidade de suas funções.
Tal é, para mim, a teoria da história ordinária” (Cousin,
1823, p. 159).
Pintar as cores corretas designa, de fato, as possi-
bilidades e as variações do gênero histórico, como suge-
re Barante. Pintar significa igualmente interpretar. E era
isso o que Thierry reprovava, desde 1820, aos historia-
dores modernos de não terem sabido fazer. A interpreta-
ção equivale a ver melhor, julgar melhor e, em conseqüên-
cia, a melhor pintar (Escudier, 1998, p. 92-93). Por fim,
Cousin não vê incompatibilidade entre os estatutos de
poeta, de pintor e de historiador, contanto que certas
regra sejam respeitadas.
Instrumento da narrativa histórica, seja ela um ro-
mance, uma peça de teatro, uma pintura de um aconteci-
mento ou de um personagem do passado, a cor local con-
fere visibilidade à história sem, no entanto, abrir mão da
faculdade imaginativa, a mesma que autoriza, eventual-
mente, o leitor a não percebê-la. É o que se nota, por
exemplo, no pintor Eugène Delacroix, representante da
escola romântica, especialista em pintura histórica. Em
seu diário, publicado em 1853, consta um diálogo sobre o
uso da cor local nos seguintes termos: à mesa “Meyerbeer
dizia, com razão – escreve Delacroix –, que ela (a cor
local) encerra um não-sei-o-quê que não é a observação 23
exata dos costumes”. Por exemplo, Schiller escreveu seu
Guilherme Tell (1804) sem jamais ter visto nada da Suí-
ça. Cousin não havia encontrado a mínima cor local em
Racine, de quem não gostava, porém Corneille, de quem
é um defensor ardoroso, seria pleno dela (Delacroix, 1943,
p. 228-229).
A cor local, ao preservar o potencial criativo das
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 23 24/1/2005, 11:38
fontes herméticas ou áridas, pode torná-las mais vivas, mais
intensas. Apesar de seu evidente valor poético, de seu
constante apelo à imaginação (a imaginação e não a razão
é imparcial, escreve Barante (1848, p. 10), em suma, de
uma perspectiva onde o prazer estético não é desprezível,
a aplicação dos princípios da cor local funciona como uma
das premissas da organização narrativa. Dessa maneira, os
historiadores encontram um meio de cativar seus leitores
através de uma história que seja verdadeira e agradável a
ler.14 A cor local é apenas um dos recursos narrativos da
história, sobretudo na primeira metade do século XIX,
daqueles historiadores para quem a história ainda não está
plenamente divorciada da sua dimensão literária, artísti-
ca ou filosófica, ou seja, no momento em que a história
não era ainda uma disciplina científica ou apenas “conhe-
cimento sobre ela mesma”, como dizia Droysen.
Paralelamente aos trabalhos dos historiadores
narrativistas seguem a passos largos aqueles que, herdei-
ros, porém críticos, da filosofia da história do século XVIII,
preocupam-se em conferir à história graus de cienti-
ficidade. No entanto, ao analisarmos mais detidamente as
obras de alguns autores envolvidos nesse debate, notare-
mos que se trata antes de ensaios na busca de uma narra-
tiva científica do que propriamente uma afirmação do gê-
nero. Não é incorreto começar a genealogia desse tipo de
investigação com Wilhelm von Humboldt. Em 1821, ele
24 publica um estudo onde discute o papel do historiador,
considerado por certos comentadores como o “texto fun-
14
Neste sentido, Thierry explica a importância da noção de cor local na sua Histoire
de la conquête de l’Angleterre par les Normands: “Eu restituí cuidadosamente a
todos estes nomes suas fisionomias normandas, a fim de obter assim um mais
alto grau desta cor local que me parece uma das condições não somente do
interesse, mas ainda da verdade histórica”; Thierry (1825, p. XXVI).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 24 24/1/2005, 11:38
dador da história científica”, isto é, “o primeiro trabalho
teórico conseqüente para subtrair o conhecimento histó-
rico à filosofia da história, a fim de constituí-lo como dis-
ciplina autônoma e instituir uma nova relação entre his-
tória e a própria filosofia” (Quillien, 1985, p. 10). 15 A
primeira tarefa do historiador é “expor aquilo que acon-
teceu” (Humboldt, 1821, p. 67). Eco a Luciano e pre-
núncio a Ranke, essa fórmula traz consigo proposições
inovadoras: expor é narrar os acontecimentos que se pas-
saram. Assim, o que aconteceu é um dado da realidade, é
o caráter objetivo do discurso histórico, que é, entretanto,
reconstruído pela subjetividade do historiador. Nesse sen-
tido, as atividades do historiador e do poeta são “incon-
testavelmente aparentadas”: tal como este, aquele se ser-
ve da imaginação. Ou seja, o recurso que auxilia o histo-
riador a articular os elementos de sua narrativa com o
objetivo de atingir a verdade histórica do que se passou é
a imaginação. Humboldt (1821, p. 68-69) reconhece os
perigos dessa aproximação e responde a uma possível ob-
jeção explicando que a diferença é que a faculdade ima-
ginativa está subordinada à experiência e à investigação
da realidade. Controlada, a imaginação não age livremente
e se transforma em “intuição” e “talento de coordenação”.
Finalmente, para se aproximar da verdade histórica é ne-
cessário um tipo de narrativa que seja o produto de “in-
vestigação rigorosa, imparcial e crítica daquilo que se pas-
sou, e a síntese do campo explorado, a intuição de tudo
aquilo que não se deixa apreender de outra maneira”
(Humboldt, 1821, p. 69). O historiador que atingir esse
ponto consegue “emocionar a alma, como a própria reali-
dade o faria” (Humboldt, 1821, p. 71). 25
Por outro lado, o historiador deve narrar os aconte-
cimentos como parte de um todo, ou, o que seria para
Humboldt (1821, p. 72) a mesma coisa, expor através de
cada um deles a forma da história em geral. A idéia que
15
Versão resumida em Humboldt (1988, p. 105-118).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 25 24/1/2005, 11:38
conduz a esse tipo de reflexão parte da crítica à filosofia
da história. Humboldt considera o homem como um todo,
e não apenas como um ser dotado unicamente de razão.
A humanidade, para ele, faz livremente sua própria histó-
ria, e não está necessariamente submetida a um pré-pro-
jeto assinado pela razão. A história é um lugar de abertura
das potencialidades presentes na espécie humana. Esse
deslocamento consiste em substituir a filosofia da histó-
ria, a pesquisa de causas finais, por uma física da histó-
ria, isto é, a pesquisa de “causas motoras”, causas verda-
deiramente ativas, que nem sempre estão ao alcance dos
julgamentos de valor ou explicações racionais. Assim
sendo, para Humboldt, a fidelidade histórica é mais
ameaçada pela filosofia do que pela poética, mais acos-
tumada a deixar ao material humano sua liberdade
(Humboldt, 1821, p. 77).
Essa primeira noção de história científica é ainda
marcada pela disputa entre vários campos de conhecimen-
to, artes, literatura, história e filosofia. Não há nesse iní-
cio, decididamente arbitrário, de genealogia rumo à ciên-
cia vias expressas e destinos inexoráveis. A exclusão da
narrativa histórica dos domínios e injunções provenientes
dos saberes que lidam com a imaginação, com a subjetivi-
dade e com o ficcional não era uma condição predetermi-
nada; trata-se mais uma vez de uma opção epistemológica.
Ao trabalho seminal de Humboldt sucedem-se ou-
tros que procuram estabelecer as bases de uma narrativa
histórica de caráter científico. Seria impossível, nos limi-
tes deste texto, reproduzir a análise de todos aqueles que
se preocuparam com a narrativa histórica como um pro-
26 blema teórico durante o século XIX. Ranke, com certeza,
desde 1824, participa dessa trajetória, combinando em
grande escala a narrativa dos eventos com a análise histó-
rica, sem, contudo, prestar muitas contas ao leitor em notas
de rodapé, pois elas tirariam, segundo Anthony Grafton
(1998, p. 63), a harmonia da narração. Ranke ,assim, pro-
põe ao leitor duas formas de autenticidade, uma literária
e outra documentária. Conseqüentemente, não é surpre-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 26 24/1/2005, 11:38
endente que os pesquisadores atuais hesitem em fazer de
Ranke o primeiro historiador científico ou o último histo-
riador romântico.16
Ainda dentro do pensamento histórico alemão, mas
em oposição a Ranke, encontramos a obra de Johann
Gustav Droysen (1983), que se dedica a discutir a ques-
tão em seus cursos proferidos entre 1857 a 1882, na Uni-
versidade de Berlim.17 Droysen afirma que não passa de
“mera rotina” caracterizar a “exposição histórica” como
sendo somente “uma narração”. Para ele, muitos aconte-
cimentos da história não são adequados para serem apre-
sentados nessa forma “popular”. Devido ao que chama de
“a própria natureza das coisas”, existe mais de uma forma
de se expor o resultado de uma investigação histórica. A
exposição deve ser, de acordo com Droysen (1983, p. 337-
338), a mimese dos atos de “buscar e encontrar” do pes-
quisador. 18 O texto histórico está submetido aqui a uma
análise tipológica onde a narrativa perde a centralidade e
a capacidade de por si só designar a história.
VI
Os primeiros ensaios alemães, sempre citados como
marcos da história científica, tiveram seus corresponden-
tes mais atuantes entre os franceses. Dentre esses, Fustel
de Coulanges se destaca por reivindicar de modo categó-
rico a condição de ciência para a história. Na sua aula
inaugural na Faculdade de Estrasburgo, em 1862, ele de-
clara: “gostaria que fosse bem entendido que a história
27
16
Ver também Pomata (1989, p. 12).
17
Somente uma versão resumida desta obra foi publicada em vida do autor, entre
1858 e 1882. Ver a apresentação de Alexandre Escudier à versão francesa
(Droysen, 2002), sobretudo p. 7-9 e 27-28. Sobre o historismo alemão, ver
também Escudier (2003, p. 743-777) (o autor menciona também as diferenças
entre Ranke e Droysen nas páginas 764-766).
18
Neste sentido, ele propõe quatro tipos de escrita histórica: investigante, narra-
tiva, didática e discursiva (ibid., p. 341-390).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 27 24/1/2005, 11:38
não é um passatempo, que ela não é feita somente para
ocupar nossa curiosidade e para preencher nossa memó-
ria. Ela é e deve ser uma ciência” (Coulanges, 1901, II,
p. 243). Em outro texto, Fustel de Coulanges com-
plementa essa proposição com apelos à imparcialidade
do historiador e ao abandono das idéias preconcebidas e
de “toda maneira de pensar que seja subjetiva”. O me-
lhor historiador é aquele que mais consegue se abstrair
dele mesmo, de suas opiniões pessoais e de seu próprio
tempo (Coulanges, 1889). Infere-se a partir de tais con-
siderações que a narrativa histórica deva ser um reflexo
dessa objetividade e isenção. François Hartog explica
que como “o químico que conduz suas experiências mi-
nuciosamente, o historiador fusteliano lê seus textos e
vê seus fatos, pois ler é ver: o melhor historiador sendo
aquele que vê mais profundamente, mais exatamente”.
Desse modo, entre o observador e aquilo que se obser-
va, a relação se desdobra “no espaço asséptico da leitura
fiel” (Hartog, 1988, p. 148-149). No entanto, a transi-
ção dessa leitura historiadora para o texto deve manter e
ratificar o afastamento entre o historiador e seu objeto.
Com efeito, se o historiador escreve, de modo nenhum
ele pode ou deve ser um escritor. Contudo, Fustel foi
reconhecido pelo seu talento como autor, condição que
ele procurava relativizar com insistência: “eu vos peço
que, quando escrever alguma coisa sobre mim, não em-
pregue a palavra talento e nenhuma outra parecida; eu
sou um simples trabalhador, um puro pesquisador”
(Hartog, 1988, p. 153-154). Reconhecer sua capacidade
literária poderia colocar em risco seu projeto his-
28 toriográfico. Parecia mais prudente negá-la.
VII
A história tem o seu estatuto científico reforçado
em 1876, com a publicação, no primeiro número da
Revue Historique, do manifesto da “escola metódica” es-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 28 24/1/2005, 11:38
crito por Gabriel Monod (1876, p. 36-38). O texto se
decompõe em três momentos. No primeiro é realizada
uma narrativa sobre o “progresso dos estudos históricos
na França” desde o Renascimento até o século XIX. O
segundo contém uma análise da conjuntura his-
toriográfica. O terceiro é o programa propriamente dito
que deve orientar os historiadores a partir daquela data.
Os limites da ciência histórica estão também demarca-
dos: “a nossa Revue será uma coletânea de ciência positi-
va e de livre discussão, mas encerrar-se-á no domínio
dos fatos e permanecerá fechada às teorias políticas ou
filosóficas” (Monod, 1876, p. 36-38). Neutralidade e
imparcialidade. Ao menos teoricamente, pois a missão
dos historiadores é a de organizarem uma narrativa onde
fiquem evidenciadas as ligações necessárias que unem os
diferentes momentos da história de um país (no caso a
França), mostrando que a mudança histórica é irresistível
e irreversível (Garcia, 1999, p. 66). Para Monod, esse é
o ponto de vista da ciência. Não há antagonismo entre
atitude científica e vocação nacional. A escrita da his-
tória é, portanto, uma das maneiras que uma nação tem
de se reencontrar consigo mesma. A posição por assim
dizer nacional não é um impedimento epistemológico à
narração histórica, é quase uma condição. Em outro tra-
balho, de 1889, Monod explica que a história chegou a
esse ponto por ter ocupado o espaço livre que havia sido
deixado pela diminuição da criação artística pura e das
especulações abstratas (Monod, 1889, p. 281). Conse-
qüentemente, a narrativa adquire uma outra dimensão:
menos sofisticada, mais histórica.
No entanto, o verdadeiro discurso sobre o método 29
científico em história surge de modo codificado apenas
ao final do século. Em 1898, os medievalistas Charles-
Victor Langlois e Charles Seignobos publicam uma Intro-
dução aos estudos históricos (Langlois e Seignobos, 1898).
No início da obra, os autores deixam claro que não se
trata de um manual sobre a “história prática”, mas de um
conjunto de regras e procedimentos que vão desde a críti-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 29 24/1/2005, 11:38
ca aos documentos até o estilo mais conveniente que o
historiador deve adotar para escrever a história.19 Além
disso, procuram enfrentar o problema da natureza do
conhecimento histórico, comparando-o com outras ci-
ências. A história é, para eles, conhecimento por tra-
ços, ou seja, ela não provém da observação direta nem
da experiência que se renova. E esses traços podem se
representados por caracteres psicológicos, isto é, maté-
rias marcadas pela subjetividade. O reconhecimento
dessa possibilidade não significa, contudo, uma conces-
são a uma suposta poética da história. Para eles, “sub-
jetividade não é sinônimo de irrealidade”. As lembran-
ças seriam um exemplo (apud Garcia, 1999, p. 80). O
historiador deve retificar gradualmente os traços sub-
jetivos (psicologia, imaginação etc.) substituindo-os por
marcas exatas. Os resultados desse procedimento, con-
tudo, nem sempre são satisfatórios. Diante da fragilidade
dos traços, das lacunas acumuladas na documentação e
da incerteza dos resultados, Langlois e Seignobos aca-
bam por definir a história como “um misto indeciso en-
tre uma ciência de generalidades e uma narrativa de aven-
turas” (Langlois e Seignobos, 1898, p. 196). Decidida-
mente, o cientificismo de Langlois e Seignobos precisa
ser revisitado para ser revisto (Prost, 1994, p. 100-118).
Finalmente, apesar do pequeno detalhe episte-
mológico sobre o ponto de vista de Monod e das dúvidas
de Langlois e Seignobos, a história parecia entrar, no sé-
culo XIX, em sua idade científica. Ao mesmo tempo, a
narrativa começava a deixar de ser um problema. Sua
perda de importância foi reforçada em 1929 com os
30 Annales, momento no qual passa a ser identificada à for-
ma de representação textual da escola metódica e do
positivismo. Porém, nas últimas três décadas do século
XX, os historiadores, a partir das mais variadas concep-
19
“O historiador deve sempre escrever bem e jamais se endomingar” (Langlois e
Seignobos, 1898, p. 272).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 30 24/1/2005, 11:38
ções, retornaram à discussão. Afinal, a narrativa não ha-
via sido sentenciada a um exílio perpétuo, apenas vivia
sob um eclipse teórico (Ricœur, 1983, p. 171-216).
Referências
ARENDT, H. 1992. O conceito de história – antigo e moderno. In: ARENDT,
H. (org.) Entre o passado e o futuro. São Paulo, Perspectiva.
BARANTE, A.G.P.B. 1848. Histoire. In: RENIER, L. (ed.) Encyclopédie
moderne. Dictionnaire abrégé des sciences, des lettres, des arts, de l’industrie, de
l’agriculture et du commerce. Nouvelle édition. Paris, Firmin Didot, tome 17.
BENVENISTE, É. 1969. Vocabulaire des institutions indo-européennes. Paris,
Minuit, 379 p.
CHLADENIUS, J.M. 1988. Reason and understanding: rational hermeneutics.
In: MUELLER-VOLLMER, K.. (ed.). The hermeneutics reader. Texts of the German
tradition from the Enlightenment to the present. New York, Continuum, p. 54-71.
COULANGES, N.D.F. de. 1862. Leçon d’ouverture du cours d’histoire de la
faculté de Strasbourg. Revue de Synthèse Historique, 1901(II):243-245.
COULANGES, N.D.F. de. 1889. Recherches et questions. In: LETERRIER,
S.-A. (ed.) Le XIXe siècle historien. Anthologie raisonnée. Paris, Belin, 1997,
p.282-284.
COUSIN, V. 1823. De la philosophie de l’histoire. In: GAUCHET, M. (org.)
Philosophie des sciences historiques. Textes de P. de Barante, V. Cousin, F. Guizot,
J. Michelet, F. Mignet, E. Quinet, A. Thierry. Lille, Presses Universitaires de
Lille, 1988, 255 p.
COUTINHO, A. 1968. A tradição afortunada (o espírito de nacionalidade na
crítica brasileira). Rio de Janeiro, José Olympio/Ed. USP, 199 p.
DELACROIX, E. 1853. Journal. In: LETERRIER, S.-A. (ed.) Le XIXe siècle 31
historien. Anthologie raisonnée. Paris, Belin, 1997, p.228-229.
DROYSEN, J.G. 1983. Histórica. Lecciones sobre la Enciclopedia y metodologia
de la historia. Barcelona, Alfa, 301 p.
DROYSEN, J.G. 2002. Précis de théorie de l’histoire. Paris, CERF, 113 p.
ESCUDIER, A. 1998. Le récit historique comme problème théorique en France et
en Allemagne au XIXe siècle. Paris, França. Tese de Doutorado, sob a direção de
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 31 24/1/2005, 11:38
M. Werner. EHESS, Paris, tome I/2.
ESCUDIER, A. 2003. De Chladenius à Droysen. Théorie et méthodologie de
l’histoire de langue allemande (1750-1860). Annales. Histoire, Sciences Sociales,
58(4):743-777.
FLICKINGER, C. 1995. L’histoire entre art et science. La “couleur locale” chez
Thierry et Barante. Université de Genève, Faculté des Lettres, Département
d’Histoire générale, DEA, sob a direção de François Hartog, 150 p.
FLICKINGER, C. 1996. Le Moyen Âge domestiqué. Les historiens narrativistes
et la “couleur locale”. Equinoxe. Revue de sciences Humaines, Lire le Moyen
Âge?, 16:27-37.
FUMAROLI, M. 2001. Les abeilles et les araigées. In: FUMAROLI, M. (org.)
La querelle des Anciens et des Modernes. Paris, Gallimard, p. 7-218
FURET, F. 1992. Da história-narrativa à história-problema. A oficina da história.
Lisboa, Gradiva, 210 p.
GARCIA, P. 1999. Le moment méthodique. In: DELACROIX, C., DOSSE, Fr. e
GARCIA, P. (eds.) Les courants historiques en France. 19e-20e siècles. Paris, 332 p.
GAUCHET, M. 1986. Les Lettres sur l’histoire de France d’Augustin Thierry.
“L’alliance austère du patriotisme et de la science”. In: NORA, P. (ed.) Les lieux
de mémoire. II. La nation. Paris, Gallimard.
GINSBURG, C. 2002. Relações de força. Histórica, retórica e prova. São Paulo,
Companhia das Letras, 192 p.
GOSMANN, L. 1990. Between history and literature. Cambridge, Massachusetts,
and London, Harvard University Press, 412 p.
GRAFTON, A. 1998. Les origines tragiques de l’éruditon. Une histoire de la note
en bas de page. Paris, Seuil, 224 p.
GUIMARÃES, M.L. 2000. Reinventando a tradição: sobre antiquariado e
escrita da história. In: Humanas (Dossiê Tradição clássica e escrita da história),
32 23(1/2):111-143.
HARTOG, F. 1988. Le XIXe siècle et l’histoire. Le cas Fustel de Coulanges.
Paris, PUF.
HARTOG, F. 1986. L’œil de l’historien et la voix de l’histoire. Communications,
43:55-69
HARTOG, F. 1982. L’œil de Thucydide et l’histoire “véritable”. Poétique, Paris,
Seuil, 49:26-37.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 32 24/1/2005, 11:38
HARTOG, F. 2000. The invention of history. The pre-history of a concept from
Homer to Herodotus. History and Theory, 39(3):384-395.
HARTOG, F. 2003. Primeiras figuras do historiador na Grécia: historicidade e histó-
ria. In: HARTOG, F. (org.) Os antigos, o passado e o presente. Brasília, Ed. UnB.
HÉRODOTE. 1964. L’Enquête. In: HÉRODOTE (org.) Œuvres complètes.
Paris, Gallimard/Bibliothèque de la Plêiade, p. 51-691.
HOMERE. 1992. L’Odyssée. VIII, 479-491. Tradução, notas e posfácio de
Philippe Jaccotet, seguido de “Des lieux et des hommes”, por François Hartog.
Paris, Le Découverte, 435 p.
HUMBOLDT, W. von. 1821. La tâche de l’historien. Lille, Presses Universitaires
de Lille, 1985, 89 p.
HUMBOLDT, W. von. 1988. On the task of the historian. In: MUELLER-
VOLLMER, K. (ed.). The hermeneutics reader. Texts of the German tradition from
the Enlightenment to the present. New York, Continuum, p. 105-118.
KOSELLECK, R. 1990. La sémantique des concepts de mouvement dans la
modernité. In: KOSELLECK, R. (org.) Le futur passé. Contribution à la sémantique
des temps historiques. Paris, Éd. EHESS, p. 272-273.
KOSELLECK, R.1997. Le concept d’histoire. In: KOSELLECK, R. (org.)
L’expérience de l’histoire. Paris, Seuil/Gallimard, p. 74-77.
KRIEGEL, B. 1996a. La querelle des Anciens et des Modernes et l’histoire
philosophique. In: KRIEGEL, B. (org.) L’histoire à l’Age classique. II. La défaite
de l’érudition. Paris, PUF, p. 269-280.
KRIEGEL, B. 1996b. Antiquaires et Historiens. In: KRIEGEL, B. (org.) L’histoire
à l’Age classique. III. Les académiens de l’histoire. Paris, PUF, p. 221-264.
LANGLOIS, Ch.-V. e SEIGNOBOS, Ch. 1898. Introduction aux études
historiques. Paris, Kimé, 1992, 302 p.
LE GOFF, J. 1988. L’histoire nouvelle. In: LE GOFF, J. (dir.). La nouvelle
histoire. Paris, Complexe, p. 35-75.
33
LUCIANO. 2001. Como se deve escrever a história. In: HARTOG, F. (org.). A
história de Homero a Santo Agostinho. Belo Horizonte, Editora UFMG.
MABLY, A. de (Gabriel Bonnot). 1775 e 1783. De l’étude de l’histoire (1775),
suivi de De la manière d’écrire l’histoire (1783). Paris, Fayard, 1988.
MABLY, A. de (Gabriel Bonnot). 1982. L’historien, le romancier, le poète.
Poétique, Paris, Seuil, 49:5-12.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 33 24/1/2005, 11:38
MOMIGLIANO, A. 1983. Problèmes d’historiographie ancienne et moderne. Paris,
Gallimard, 483 p.
MONOD, G. 1876. Du progrès des sciences historiques en France depuis le
XVIe siècle. Revue Historique, 1(I):36-38
MONOD, G. 1889. Les études historiques en France. In: LETERRIER, S.-A.
(ed.) Le XIXe siècle historien. Anthologie raisonnée. Paris, Belin, 1997.
POMATA, G. 1989. Versions of narrative: overt and covert narrations in
nineteenth century historiography. History Workshop, 27.
PROST, A. 1994. Seignobos revisité, Vingtième siècle. Revue d’Histoire, 43:100-118.
QUILLIEN, J. 1985. Introduction. In: HUMBOLDT, W. von. (ed.) La tâche de
l’historien (1821). Lille, Presses Universitaires de Lille.
RANKE, L. von. 1824. Geschichten der romanischen und germanischen Völker
von 1494 bis 1514. In: RANKE, L. (ed.) Sämmtliche Werke, vol. 33-34.
REVEL, J. 2001. Raconter et connaître. Les usages du récit en histoire. Divinatio,
Studia Culturologia Series, Sofia, Maison des Science de l’Homme et de la Société, 13.
RICŒUR, P. 1983 Temps et récit. 1. L’intrigue et le récit historique. Paris, Seuil,
533 p.
ROUSSEAU, J.J. 1966. Émile ou de l’éducation. Paris, Flammarion, 629 p.
RÜSEN, J. 2001. Razão histórica. Teoria da história: os fundamentos da ciência
histórica. Brasília, Ed. UnB, 195 p.
THIERS, A. 1824. Peinture et histoire. In: LETERRIER, S.-A.. (ed.) Le XIXe
siècle historien. Anthologie raisonnée. Paris, Belin, 1997.
THIERRY, A. 1825. Histoire de la conquête de l’Angleterre par les Normands.
Paris, Firmin Didot, tome I.
THIERRY, A. 1884. Sur les différentes manières d’écrire l’histoire, en usage
depuis le quinzième siècle – Lettre VI. In: THIERRY, A. (org.) Lettres sur
34 l’histoire de la France. Paris, Garnier Frères Librairie-Éditeurs.
THUCYDIDE. 1964. Histoire de la guerre entre les péloponnésiens et les athéniens.
In: THUCYDIDE (org.) Œuvres completes. Paris, Gallimard/Bibliothèque de la
Pléiade, 21.
VOLTAIRE. 1829. Dictionnaire Philosophique (Tome V). In: VOLTAIRE (org.)
Œuvres de Voltaire, t. XXX. Paris, Chez Lefèvre Libraire.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 34 24/1/2005, 11:38
A narrativa e o conhecimento
histórico*
Cláudio Pereira Elmir**
Resumo:
O texto discute teoricamente o caráter narrativo
do conhecimento histórico, especialmente por meio de
artigo clássico de Lawrence Stone (1979), e propõe uma
rápida análise historiográfica do livro O maior crime da
terra (1996), de Décio Freitas. Na seqüência, esta obra é
confrontada à tipologia (narrativa tradicional x narrativa
atual) estabelecida pelo historiador inglês.
Palavras-chave: natureza do conhecimento histórico – narra-
tiva historiográfica – controvérsia narrativa – Lawrence Stone
– Décio Freitas.
Abstract:
The text draws on the historical knowledge in the
article by Lawrence Stone (1979) and suggests a brief 35
historiographical analysis of the book O maior crime da
*
Este texto foi escrito para ser lido no Seminário “A escrita da história: modos
(I)”, promovido pelo Curso de Graduação e pelo Programa de Pós-Graduação
em História da UNISINOS e pelo GT Teoria da História e Historiografia da
ANPUH-RS, e realizado entre os dias 26 e 30 de maio de 2003. Agradeço a
Edla Eggert pelos comentários e a Imgart Grützmann pela contraleitura.
**
Doutor em História pela UFRGS. Professor da UNISINOS.
HISTÓRIA
HISTÓRIAUNISINOS
UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ p.2004
35-52
Historia10.p65 35 24/1/2005, 11:38
terra (1996) by Décio Freitas. His work is then confronted
with the typology (traditional discourse x current
discourse), established by the English historian.
Key words: nature of historical knowledge, historiographical
discourse – Lawrence Stone – Décio Freitas.
[…] é absurdo supor que, porque um discurso histórico é enun-
ciado no modo de uma narrativa, ele tem de ser mítico, ficcional,
substancialmente imaginário, ou de alguma maneira “não-re-
alista” naquilo que ele nos diz sobre o mundo. (White, 1994b,
p. 41).
[...] não podemos mais ver o texto historiográfico como um
continente não-problemático e neutro de um conteúdo suposta-
mente dado em sua inteireza por uma “realidade” que jaz além
de seus limites. (White, 1994b, p. 43).
Sempre podemos ver o elemento fictício nos historiadores de
cujas interpretações de um dado conjunto de eventos discorda-
mos; raramente percebemos esse elemento em nossa própria
prosa. (White, 1994a, p. 116).
“Historiadores não contam histórias”. Este talvez seja
um pressuposto implícito – e às vezes nem tanto – daque-
les que torcem o nariz quando se discute o caráter narrati-
vo da escrita historiográfica. Uma das origens possíveis
deste desconforto, ou seja, o incômodo da percepção de
que “narrativa” e “historiografia” guardam estreita intimi-
dade, encontra-se nos primórdios da constituição de nos-
36
so campo de saber, no século V antes de nossa era. Não
foi necessário se chegar ao século XIX para que se operas-
se a ruptura epistemológica com a história feita/contada
por Heródoto. Em Tucídides mesmo já é possível perce-
ber a emergência do discurso de desconfiança em relação
à memória, embora ele próprio tenha se valido da lem-
brança na recuperação dos acontecimentos de seu tem-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 36 24/1/2005, 11:38
po. De qualquer modo, hoje não se fala de “neo-
herodotianos” ou “neotucidideanos”, revelando esta au-
sência de contigüidade na tradição da história –conheci-
mento a constatação de que ambos os autores não fizeram
escola (Hartog, 2001, p.18-19). Em relação a Heródoto,
este fato aponta para uma tensão significativa, a saber: o
“pai da história” foi renegado. De certa forma, ao produzir
um relato marcado fortemente por traços de subjetivida-
de e que, no limite, fundava-se na estrita imaginação do
autor, Heródoto, o “pai da história”, transmutava-se em
grande mentiroso (Dosse, 2003, p. 19-20; Momigliano,
2004, p. 66-67); mais ou menos como Homero, o poeta
inefável de uma odisséia impossível.
Quando hoje não se reconhece a dimensão narrati-
va do saber produzido pela história, esta recusa revela até
certo ponto uma associação entre a narrativa, a subjetivi-
dade e a ficcionalidade (Rüsen, 1996). Desde o ponto de
vista da ciência (pelo menos aquela reivindicada pelos
objetivistas) ou do paradigma tradicional (Burke, 1992a,
p. 15), a integração harmoniosa destes termos sempre foi
uma tarefa impossível. O que está na base da crítica a este
encontro espúrio (narrativa/subjetividade/ficcionalidade)
não são tanto os padrões de realização da enunciação da
história enquanto conhecimento, quanto a possibilidade
de a forma minimizar a consecução do empenho máximo
da história e que está além do texto, qual seja, a recupera-
ção da verdade do que aconteceu.
Se, para os saberes tradicionais, a narrativa é histo-
ricamente portadora de verdade, a sua presença no dis-
curso douto, inversamente, é capaz de produzir o engano,
a palavra equívoca e, por conta disto, deve ser expurgada 37
do espaço do saber acadêmico. Pois o fundamento da ver-
dade na narrativa tradicional encontra-se majoritariamen-
te na oralidade e na crença. A hegemonia de uma cultura
grafocêntrica na modernidade (cf. Bowman & Woolf, 1998,
p. 5) produziu a desconfiança em relação à palavra falada
e exigiu o impresso visível da prova. Se assim é desde
então, “historiadores não contam histórias”. Agora, “his-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 37 24/1/2005, 11:38
tórias são escritas”. Se, antes a visão e a audição autoriza-
vam o desencadeamento da fala historiadora, agora, “ter
visto” ou, pior, “ter ouvido falar” podem ser motivos de
suspeição.
Persistindo mais um pouco nesta lógica de
dualidades inconciliáveis, a narrativa faz parte do campo
literário; aí, sim, subjetividade e ficcionalidade podem se
legitimar sem reservas. A literatura é o lugar autorizado
para a expressão do “eu”, nada obstando que este seja
inclusive um “outro” do escritor; como, por exemplo, o
narrador. Diferentemente da expectativa nutrida com re-
lação ao discurso proveniente do espaço “imaculado” da
Academia, na prosa literária ou na poesia o “fingimento”
é um subentendido, e a ninguém ocorreria questionar as-
pectos pouco plausíveis do “mundo inventado” pela fic-
ção. Inclusive, por isto ela o é.
Acontece, contudo, que termos aparentemente in-
conciliáveis às vezes se encontram. Quase sempre, é cla-
ro, para atrapalhar ou desfazer nossas convicções mais as-
sentadas. Vou trazer o exemplo das reflexões feitas por
um intelectual acadêmico que se tornou, posteriormente,
um escritor renomado, o semiólogo italiano Umberto Eco.
Ao discutir acerca dos diferentes pontos de partida de seus
romances, Eco ironiza as perguntas feitas comumente por
seus entrevistadores. Ora elas supõem “[...] que um texto
criativo desenvolve-se quase instantaneamente na chama
mística de um arrebatamento de inspiração”, ora elas afir-
mam que “[...] o escritor tenha seguido uma receita, uma
espécie de regra secreta que é preciso desvelar” (Eco, 2003,
p. 282). Os começos de Umberto Eco na expressão
38 ficcional têm-se dado sob outros registros, um pouco me-
nos solenes, um pouco mais verossímeis. Sobre seu pri-
meiro romance e obra mais conhecida, O nome da rosa
(1980), escrito em plena maturidade intelectual, diz Eco:
[...] passei um ano abundante [...] sem escrever uma linha
[...]. Lia, fazia desenhos e diagramas, inventava um mundo.
Este mundo devia ser o mais preciso possível, de forma que eu
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 38 24/1/2005, 11:38
pudesse me mover com absoluta segurança. Para O nome da
rosa, desenhei centenas de labirintos e plantas de abadias, base-
ando-me em outros desenhos e em lugares que visitava, pois
precisava que tudo funcionasse, tinha necessidade de saber quan-
to levariam dois personagens para andar, falando, de um
lugar a outro. E isso definia a duração dos diálogos. (Eco,
2003, p. 288).
No caso que cito, temos as revelações de um autor
empírico sobre o seu processo criativo. Elas dessacralizam
alguns estereótipos consagrados e oferecem ao leitor indí-
cios sobre o método de trabalho do autor, ainda no mo-
mento que antecede a escrita do romance. Neste teste-
munho, a subjetividade é regrada e a dicção ficcional aten-
de a parâmetros mais ou menos realistas. Mas, ainda sim,
é narrativa. E narrativa literária. Ora, parece haver algu-
ma coisa errada com os pressupostos que anunciávamos
no início deste texto.
Na verdade, a narrativa que serve de parâmetro
comparativo aos críticos da “narrativa histórica”, ou seja,
a “narrativa literária”, pouco se assemelha àquilo que esta
efetivamente é. Desta forma, ao se realizar a transposição
das características que conformam o texto literário ao texto
historiográfico, parte-se de um conceito condensado num
modelo irreal, quer dizer, que encontra pouca correspon-
dência na própria escrita da ficção. Neste sentido, estudar
o motivo que detona a confecção da obra literária, antes
de configurá-la discursivamente (assim como o faz
Umberto Eco e tantos outros escritores), está fora do ho-
rizonte de muitos críticos apressados da narrativa.
Podemos, assim, afirmar que a “narrativa histórica”
não se parece com a “narrativa literária” não apenas por- 39
que esta última tem a marca da literariedade que a afasta
do horizonte de verdade reverenciado pelos historiado-
res. Mais do que isto, a “narrativa histórica” se afasta da
“narrativa literária” porque esta, na forma como é consti-
tuída pela crítica historiográfica (subjetividade plena e
completa ausência de referentes extradiscursivos), não
consegue se reconhecer a si mesma enquanto tal.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 39 24/1/2005, 11:38
II
Existe um conceito equivocado de narrativa que
está na origem deste (des)entendimento e que pode ser
exemplificado através de alguns autores que se dedica-
ram a nutri-lo. Recuperei este debate de forma exaustiva
em minha tese de doutorado, quando tratei d’A controvér-
sia narrativa (Elmir, 2002a, p. 31-62), a fim de estabelecer
o campo conceitual a partir do qual eu abordaria as dife-
rentes narrativas produzidas sobre os famosos “crimes da
Rua do Arvoredo”.
Neste ensaio, vou me restringir a apenas um destes
autores, o historiador inglês Lawrence Stone, e a seu tex-
to seminal intitulado “O ressurgimento da narrativa: re-
flexões acerca de uma nova velha história”, publicado em
1979, na prestigiosa revista Past and Present.
O artigo de Stone, se não tivesse outros méritos,
poderia ser saudado simplesmente pela desestabilização
provocada em alguns conceitos estabelecidos ao ensejar
o debate entre os historiadores, no que, diga-se de passa-
gem, os ingleses têm se notabilizado. A vocação para a
polêmica pode ser detectada, por exemplo, na frase que
dá início ao seu texto e que parece ter sido feita justa-
mente para incitar a fala alheia. Diz ela: “Os historiadores
sempre contaram estórias” (Stone, 1991, p. 13). A ambi-
güidade do termo empregado (story), associado na língua
inglesa ao campo ficcional, não deixa claro tratar-se de
um uso irônico do autor (será que, na verdade, os histori-
adores sempre contaram “mentiras”?) ou da convicção de
que é impossível escapar de algum nível de ficcionalidade
40 na confecção do texto historiográfico.
Ao discutir uma suposta “volta da narrativa” no tra-
balho historiográfico, Stone tenta definir a compreensão
que tem acerca da mesma, dizendo:
A narrativa aqui designa a organização de materiais numa
ordem de seqüência cronológica e a concentração do conteúdo
numa única estória coerente, embora possuindo sub-tramas.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 40 24/1/2005, 11:38
A história narrativa se distingue da história estrutural por dois
aspectos essenciais: sua disposição é mais descritiva do que
analítica e seu enfoque central diz respeito ao homem e não às
circunstâncias. Portanto ela trata do particular e do específico,
de preferência ao coletivo e ao estatístico. (Stone, 1991, p. 13-
14) [grifos meus].
É importante observar que o autor assinala o seu
conceito de narrativa, que é particular e bastante parcial,
especialmente ao dizer que o conteúdo é disposto na mes-
ma “numa única estória coerente”, o que faz supor que os
autores de textos narrativos não introduzam o princípio
da dúvida e/ou da ambigüidade nos mesmos. Se existe
uma única estória coerente, deve haver uma linearidade
discursiva na recomposição do acontecido capaz de eli-
minar o incerto. Há que se refletir sobre se a narrativa não
pode ser entendida, diferentemente, como um meio pelo
qual se realiza a incerteza no discurso historiográfico.
Ao mesmo tempo, entender a narrativa como “a
organização de materiais numa ordem de seqüência cro-
nológica” aproxima o seu significado daquele dos Anais
ou da Crônica histórica (White, 1987), embora o autor,
na seqüência e de maneira pouco precisa, negue esta iden-
tificação. Contar uma história – ou estória, como quer
Stone – não significa estabelecer como critério básico de
disposição dos “materiais” uma ordem de seqüência cro-
nológica. Aliás, as narrativas tendem – muitas vezes, em
benefício da trama – a subverter a cronologia do aconte-
cido (Burke, 1992b, p. 345). Não existe uma ordem ne-
cessária no tempo da narrativa pelo simples motivo de
que o tempo do acontecido não coincide com o tempo
de sua escrita, lição básica do discernimento que se deve 41
fazer entre a história (devir) e a historiografia.
A par da acepção de narrativa elaborada por Stone
e de algumas controvérsias que ela pode suscitar, o autor
associa a este vocábulo algumas transformações observa-
das no conteúdo, no método e, especialmente, no “estilo
histórico”, destacando, apropriadamente, que estas mu-
danças não são compartilhadas pela maioria dos histori-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 41 24/1/2005, 11:38
adores, não obstante o reduzido grupo que com elas se
identifica consiga uma visibilidade e um destaque incom-
patíveis com sua representatividade numérica. Embora
esta avaliação careça de demonstração quantitativa no
texto de Stone – o que certamente deveria ser feito se-
gundo critérios de análise a serem estabelecidos por uma
investigação historiográfica mais alentada e diferencia-
da, no mínimo, por países –, penso ser possível apostar
nesta hipótese.
Após esta breve introdução à problemática da nar-
rativa, Stone elabora um painel das principais tendênci-
as teóricas que ao longo do século XX refutaram o “mo-
delo narrativo” de construção do conhecimento históri-
co, na tentativa de aproximar a história de um âmbito
de cientificidade. Segundo o autor, tanto os marxistas
(anos 1930/50) quanto os “annalistes” (1950/70) e os
“cliometristas” (1960/70) acreditavam que “[...] a mo-
dalidade mais adequada de organizar e apresentar os da-
dos era a analítica, mais do que a narrativa [...]” (Stone,
1991, p. 18).
Entre as razões que explicam um certo afastamento
das orientações proclamadas pelas teorias citadas e, con-
seqüentemente, a retomada do empreendimento narrati-
vo – até o século XIX vigente – ainda que em outras ba-
ses, Stone destaca:
(1) uma desilusão com o modelo determinista econômico de
explicação histórica em função do reconhecimento de outras
variáveis independentes a definirem os quadros históricos;
(2) o declínio do engajamento ideológico entre os intelectuais
ocidentais, especialmente no que respeita ao marxismo; argu-
42 mento este refutado por Eric Hobsbawm (1998, p. 201-206);
(3) o reconhecimento dos limites explicativos do uso da
quantificação no trabalho histórico, na medida em que esta, não
obstante seus procedimentos terem melhorado a argumentação
histórica, pode responder razoavelmente sobre “o quê”, mas
pouco tem a dizer sobre “os porquês”. Neste sentido, ao se
questionar a quantificação estar-se-ia atribuindo dignidade ao
exemplo – seja ele excepcional ou típico –, ao invés de se
refutar a validade de sua centralidade indevida no discurso do
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 42 24/1/2005, 11:38
historiador1 ;
(4) a consideração ao juízo elaborado sobre a experiência pelos
próprios agentes sociais; ou seja, a sua percepção de si, o que
aproxima a “história narrativa” de alguns referenciais da An-
tropologia que muitas vezes têm migrado de maneira mitigada
para o campo historiográfico2 . De qualquer maneira, um dado
importante a ser considerado nesse aspecto é a vinculação do
saber antropológico a um caráter descritivo/narrativo, configu-
rado na pergunta pelo “como”, ao passo que a Sociologia e a
Economia estariam mais associadas a uma perspectiva analíti-
ca, manifestada nas inquietações do “porquê”;
(5) a preocupação com o lugar de circulação social da produção
historiográfica; o que implica dizer, uma tentativa de alargar o
espectro de leitores potenciais desta mesma produção. Para o
autor, os historiadores analíticos, estruturais ou quantitativos
falam apenas entre eles, enquanto os historiadores narrativos
conseguem estabelecer uma interlocução maior com o público
não especialista mas inteligente (cf. Stone, 1991, p. 19-27).
Lawrence Stone elenca ainda em seu ensaio cinco
características diferenciais da narrativa atual em relação à
narrativa tradicional na historiografia. Os historiadores
narrativos atuais
(1) “[...] estão [...] interessados nas vidas, sentimentos e com-
portamentos dos pobres e obscuros, ao invés dos grandes e pode-
rosos” (Stone, 1991, p. 31);
(2) articulam em seus textos, de maneira pendular, tanto a
análise quanto a descrição;
(3) estão utilizando “novas fontes”;
(4) estão contando suas estórias de maneira diferente, influen-
ciados pelo romance moderno, pelas idéias de Freud e pela
Antropologia, e, por fim,
(5) “[...] contam a estória de uma pessoa, um julgamento ou
um episódio dramático, não por ele mesmo, mas para lançar
luz ao funcionamento interno de uma cultura e uma sociedade 43
do passado” (Stone, 1991, p. 32); ou seja, articulam o particu-
lar com o geral.
1
Para uma discussão teórico-metodológica recente acerca da presença do “quan-
titativo” no trabalho das Ciências Humanas, ver o texto de Silva Jr. (2003).
2
Ver, sobre o “sujeito” e sua incorporação no debate teórico francês das Ciências
Humanas, Rodrigues da Silva, 2002, p. 29-45.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 43 24/1/2005, 11:38
Para o autor, este é um dos aspectos que pode trazer
problemas à realização de uma “história narrativa”, pois
ao ilustrar a mentalité através do uso do exemplo porme-
norizado, fica difícil distinguir entre o normal (típico) e o
excêntrico. Ao se trabalhar, por exemplo, com fontes ju-
diciais (processos criminais, especialmente), corre-se o ris-
co de tomar o atípico pelo regular, mas ao mesmo tempo
a regularidade da atipicidade ou a leitura cuidadosa do
discurso expresso por essas fontes pode, eventualmente,
corrigir algum desvio interpretativo. Entretanto, esta pa-
rece ser uma questão insolúvel do ponto de vista de pres-
crições metodológicas antecipatórias ao curso da investi-
gação que se estiver fazendo (Elmir, 2002b).
Stone parece oscilar em vários momentos de seu
texto entre a identificação de uma tendência de incorpo-
ração de uma nova narrativa na produção historiográfica,
atenta às características revistas anteriormente, e a per-
manência de uma história narrativa de matiz mais tradici-
onal, com cunho eminentemente empirista e com preo-
cupações de conteúdo que não vão além das curiosidades
de um antiquarista. As delicadas relações que ambos os
tipos de história entretêm com o caráter científico reivin-
dicado para a nossa disciplina e, talvez, mais do que isto,
as aproximações e diferenças que guardam com um certo
cânone do fazer historiográfico certamente estão na base
do debate ulterior ensejado por este artigo, e que tem
ocupado a pauta dos historiadores nas últimas duas déca-
das, pelo menos.
44 III
O meu propósito aqui não é o de estabelecer a
genealogia deste debate, mas de tão-somente partir das
considerações feitas por Stone, confrontando-as com um
trabalho historiográfico extremamente controvertido, pro-
duzido em meados da década passada (1996) por Décio
Freitas. Trata-se do livro O maior crime da terra: o açougue
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 44 24/1/2005, 11:38
humano da Rua do Arvoredo: Porto Alegre (1863-1864),
publicado já em 4a edição (2002) pela Editora Sulina, de
Porto Alegre.
Se for o caso de aceitar a tipologia feita por Stone,
o texto de Décio Freitas se aproxima bem mais da “nova
narrativa” do que da “narrativa tradicional”. O maior cri-
me da terra não trata de grandes e poderosos, não traz uma
simples descrição de acontecimentos e não se ressente de
um uso restrito de fontes.
Ao contrário, sua narrativa trata de ações delituosas
(crimes de assassinato) cometidas por um homem comum,
proveniente dos grupos populares da cidade, consorciado
quem sabe com outros membros destes mesmos setores
sociais. Da mesma forma, as vítimas da ação criminosa de
José Ramos e, eventualmente, sua mulher, Catarina Palse,
pertencem ao mesmo extrato inferior da escassa popula-
ção da capital da Província, cerca de 20 mil habitantes, à
época.
A narrativa de Freitas, estruturada sob a forma de
um ensaio, combina seqüências descritivas e seqüências
explicativas, e também diálogos. É esta diversidade no
movimento da narrativa que fornece densidade a qual-
quer texto. Nas palavras de Yves Reuter: “o texto da nar-
rativa é heterogêneo, diverso e compósito, como uma
roupa de Arlequim” (Reuter, 2002, p. 127). Esta
heterogeneidade no interior do próprio texto pode ser
explicada por diversas causas, entre as quais poderíamos
citar a construção de um universo verossímil, o
favorecimento à compreensão do texto, a busca do inte-
resse do leitor. Além disto, Yves Reuter afirma: “manipu-
lar diversas formas de seqüências favorece ainda o jogo 45
com o ritmo, acelerando ou desacelerando o andamento
da história” (Reuter, 2002, p. 138). O lugar que cada uma
destas seqüências ocupa no corpo da narrativa não é exato
ou invariável. Ao contrário, a difusão parece ser a regra.
Embora Stone não explicite rigorosamente o que
são as “novas fontes” utilizadas pelos “novos historiadores
narrativos”, encontramos na narrativa de Décio Freitas a
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 45 24/1/2005, 11:38
incorporação de fontes de natureza diversa: um processo
criminal (o autor afirma serem três), crônicas literário-
jornalísticas, relatórios de homens públicos da Província,
dois livros de memórias (que jamais pude localizar), entre
outros.
Também é possível reconhecer, em certa medida,
as influências do romance moderno e da Psicanálise em
seu texto. A construção do argumento central (ou da tese
do autor, se quisermos) se realiza na narrativa de O maior
crime da terra por meio de um processo de psicologização
das razões (ou dos fundamentos) para o cometimento dos
crimes. São consumadas estas razões psicológicas em um
exercício reiterado de identificação de traços patológicos
originários da vida familiar pregressa tanto de José Ramos
quanto de Catarina Palse (Gay, 1989, p. 11-23; Dosse,
2001, p. 271-293).
Esta estratégia de localizar na estrutura psíquica das
personagens a motivação para o cumprimento de um per-
curso anômico, ao mesmo tempo em que se revela, es-
conde-se nos meandros das seqüências narrativas. Dizen-
do de outra forma, é na armação da intriga que vai se
dando a sugestão de que não haveria como José Ramos e
Catarina Palse não terem cometido os crimes que supos-
tamente cometeram. O leitor é levado a acreditar num
sussurro ardiloso feito em seus ouvidos, pelo qual a trama
urdida não poderia ser diferente. Talvez os “novos narra-
dores” da historiografia sejam sujeitos menos convictos.
Por outro lado, talvez não pegue bem historiadores sus-
surrarem nos ouvidos de seus leitores coisas das quais não
precisem se envergonhar.
46 De certa maneira, a história de O maior crime da
terra é a história de um julgamento, ou de um “episódio
dramático”, que lança luz sobre o funcionamento interno
de uma cultura e de uma sociedade do passado. De fato,
não se trata de uma história cujo fim esteja encapsulado
nela mesma. Seu tema não pode ser considerado “a crôni-
ca miserável de uma aldeia obscura” (Burke, 1992b, p.
341). A narrativa de Décio Freitas não se confunde com
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 46 24/1/2005, 11:38
a “pequena narrativa” que os críticos da pós-modernidade
reconhecem em parte da produção intelectual das ciên-
cias humanas dos últimos tempos. Nela, não reinam a
dispersão, a fragmentação, a falta de unidade, a perda
do sentido da totalidade, a impossibilidade da realização
da síntese.
Encontramos no texto de Décio Freitas a constru-
ção de uma “grande narrativa”. Uma narrativa que se co-
loca a serviço de um sentido da história que não se consu-
ma prioritariamente na apropriação que os leitores pos-
sam fazer desta estória/história. O maior crime da terra, en-
quanto narrativa, parece carregar uma finalidade última,
um lugar para o qual ela se dirige independentemente da
vontade do leitor de evitar o sussurro da palavra solerte
de seu narrador.
Este sentido que travestiu o argumento sob as ves-
tes da fábula se encontra na explicação pela “natureza
humana”3 , marcada esta por traços defeituosos, pela difi-
culdade de transcender a animalidade, por instintos
irrefreáveis. A evolução precária do humano, inúmeras
vezes, chama de volta o homem domado pela civilização
àquilo que ele efetivamente é: um chacal adormecido. Os
assassinatos, os esquartejamentos, o fabrico de lingüiça
destes despojos e as práticas canibais que deles decorrem
na narrativa de Décio Freitas são ações que apenas cum-
prem esta necessidade atávica de o homem retornar ao
seu ethos primitivo (Freitas, 1996).
O relativo acordo entre as características reconhe-
cidas por Stone em uma narrativa renovada e aquelas que
o trabalho de Décio Freitas permite identificar em sua
prosa não faz da “nova narrativa” um texto substancial- 47
mente mais qualificado que aquele da “narrativa tradicio-
nal”, tomando-se o exemplo de O maior crime da terra.
3
“Por trás de um discurso historiográfico que aparece como inovador, inspirado
nas ciências sociais mais modernas, vê-se ressurgir a antiga noção de natureza
humana permanente, noção esta também antinômica à historicidade” (Dosse,
2001, p. 266).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 47 24/1/2005, 11:38
Neste sentido, a tentativa de Stone de estabelecer, dife-
rencialmente, dois modelos da presença do narrativo no
trabalho historiográfico não logrou êxito.
IV
Não raras vezes, questões epistemológicas do co-
nhecimento histórico têm assumido feição de prescrições
éticas [Da Costa, 1993]. Às vezes, fica-se com a impressão
de que o julgamento moral substitui a crítica teoricamen-
te fundamentada do ofício historiográfico. Neste sentido,
há procedimentos da prática historiadora para os quais se
reclama correção, enquanto há outros que exigem a con-
denação sumária dos defensores da história; esta, quase
sempre, declinada no singular, como convém aos críticos
radicais dos “modismos” (Cardoso, 1999, p. 17-26).
Assumir esta postura sectária no caso da “narrati-
va” pode levar, na melhor das hipóteses, a uma
incompreensão de seu real valor no desempenho da ope-
ração historiográfica; ou, radicalizando a crítica, ao seu
descarte imediato.
O conhecimento produzido pelo historiador, cuja
expressão mais evidente se revela na textualidade, é emi-
nentemente narrativo. Neste sentido, falar-se em “histori-
adores narrativos” e “historiadores estruturais” torna-se um
embuste. É possível reconhecer em muitos historiadores
renomados erros primários no uso da nomenclatura refe-
rente aos estudos de narrativa, entre os quais, a
indiferenciação entre “narrativa” e “narração”. Quando
48 se toma, equivocadamente, esta (a narração) por aquela
(a narrativa), suprime-se a possibilidade de a narrativa
conter qualquer dimensão explicativa. É como se confun-
disse a sucessividade (o “um depois do outro”) com a sua
lógica (o “um por causa do outro”). Ao mesmo tempo,
opor “descrição” (inferior) à “análise” (superior), como se
fossem termos antitéticos, significa perder de vista que a
narrativa também é feita de “paradas estratégicas” na or-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 48 24/1/2005, 11:38
dem da sucessividade, quando então espaço, personagens
e mesmo o tempo podem ser flagrados com maior preci-
são. Mais ainda, ao não se reconhecer na narrativa a ca-
pacidade de elaboração do argumento pela urdidura da
intriga ou do enredo, pensa-se que a mesma não consegue
ultrapassar a dimensão episódica do relato estrito dos
acontecimentos. A simbiose que se quis fazer entre “acon-
tecimentos” e “narrativa” (a “narrativa dos acontecimen-
tos”) associou um conteúdo inferior a uma forma tam-
bém rebaixada. Toda esta nossa conversa seria dispensá-
vel não fosse a persistência de um verdadeiro diálogo de
surdos a reger o precário debate historiográfico acerca
desta questão.
Quando Peter Burke afirma que talvez não seja o
caso de estar ocorrendo um mero “renascimento” da nar-
rativa, como pensa Stone, e sim uma “regeneração” da
mesma (Burke, 1992b, p. 348), ele está dizendo, na ver-
dade, que ela nunca deixou de estar no lugar onde sem-
pre esteve, ou seja, no texto do historiador. Regenerar a
narrativa, nestes termos, significa dar-se conta desta pre-
sença e aceitá-la.
A historiografia se afigura como o campo privilegi-
ado na (re)inserção da narrativa como elemento de análi-
se pelos historiadores. Não se imagina com isto propor
uma abordagem narratológica (ou interna) de seus enun-
ciados. Mas, sim, se levar em conta a fundamental contri-
buição das teorias da narrativa (provenientes dos estudos
literários) no redimensionamento de nossa interlocução
com o texto. Se, para muitos, a pauta historiográfica con-
tinua a se realizar sob o duplo “o homem e a sua circuns-
tância”, ou “o historiador e seu tempo”, há que se incluir 49
nesta pauta não apenas os temas ou as abordagens que
orientam este fazer de um ponto de vista externo, mas os
sentidos que a leitura qualificada destes textos é capaz de
revelar. E, para tanto, requer-se mais que a identificação
(de autores, de obras, de contextos, de temas e de abor-
dagens); é imprescindível uma intervenção positiva no
complexo jogo que resultou no texto oferecido à leitura.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 49 24/1/2005, 11:38
A análise da narrativa – em alguma de suas múltiplas di-
mensões – pode se tornar a via de acesso ao conjunto
desta operação criadora de sentido.
Ao pretender tratar das relações entre a narrativa e
o conhecimento histórico, dou-me conta de que meu
empenho talvez não tenha sido suficiente. Consegui ser
bastante parcial nesta abordagem. Quem sabe, reivindi-
car o caráter de ensaio para a sua estrutura retire um pou-
co de sua eventual indignidade? Ou, quem sabe, devamos
considerar, junto com Umberto Eco, que “[...] todo texto é
uma máquina preguiçosa pedindo ao leitor que faça uma
parte de seu trabalho” (Eco, 1994, p. 9)? Qualquer um des-
tes argumentos pode ser um bom começo para o debate.
Referências
BOWMAN, A.K. e WOOLF, G. 1998. Cultura escrita e poder no mundo
antigo. In: BOWMAN, A.K. e WOOLF, G. (orgs.). Cultura escrita e poder no
mundo antigo. São Paulo, Ática, p. 5-23.
BURKE, P. 1992a. Abertura: a nova história, seu passado e seu futuro. In:
BURKE, P. (org.). A escrita da história. Novas perspectivas. 2ª ed., São Paulo,
UNESP, p. 7-37.
BURKE, P. 1992b. A história dos acontecimentos e o renascimento da narrati-
va. In: BURKE, P. (org). A escrita da história. Novas perspectivas. 2ª ed., São
Paulo, UNESP, p. 327-348.
CARDOSO, C.F. 1999. Epistemologia pós-moderna, texto e conhecimento: a
visão de um historiador. Diálogos: Revista do Departamento de História da Univer-
sidade Estadual de Maringá, 3(3):1-28.
50
DA COSTA, E.V. 1993. Novos públicos, novas políticas, novas histórias. Do
reducionismo econômico ao reducionismo cultural: em busca da dialética. Anos
90, 10:7-22.
DOSSE, F. 2001. O caráter psíquico da história. In: DOSSE, F. (org.). A história
à prova do tempo: da história em migalhas ao resgate do sentido. São Paulo, UNESP,
p. 257-293.
DOSSE, F. 2003. O historiador: um mestre de verdade. In: DOSSE, F. (org.). A
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 50 24/1/2005, 11:38
história. Bauru, EDUSC, p. 13-46.
ECO, U. 2003. Como escrevo. In: ECO, U. (org.) Sobre a literatura. Rio de
Janeiro, Record, p. 277-305.
ECO, U. 1994. Entrando no bosque. In: ECO, U. (org.). Seis passeios pelos
bosques da ficção. São Paulo, Companhia das Letras, p. 7-31.
ELMIR, C.P. 2002a. A história devorada. No rastro dos crimes da Rua do Arvoredo.
Porto Alegre, RS. Tese de Doutorado em História. UFRGS, 299 p.
ELMIR, C.P. 2002b. O crime em disputa. O campo jurídico e as lutas para a
instauração do discurso legítimo acerca da negatividade do social. In:
RECKZIEGEL, A.L.S. e FÉLIX, L.O. (orgs.). RS: 200 anos definindo espaços na
história nacional. Passo Fundo, EDIUPF, p. 325-332.
FREITAS, D. 1996. O maior crime da terra. O açougue humano da Rua do
Arvoredo. Porto Alegre, Sulina, 140 p.
GAY, P. 1989. Freud para historiadores. Rio de Janeiro, Paz & Terra, 225 p.
HARTOG, F. 2001. Como se escreveu a história na Grécia e em Roma. In:
HARTOG, F. (org.). A história de Homero a Santo Agostinho. Belo Horizonte,
Ed. UFMG, p. 9-20.
HOBSBAWM, E. 1998. A volta da narrativa. In: HOBSBAWM, E. (org.).
Sobre história. Ensaios. São Paulo, Companhia das Letras, p. 201-206.
MOMIGLIANO, A. 2004. A tradição herodoteana e tucidideana. In:
MOMIGLIANO, A. (org.). As raízes clássicas da historiografia moderna. Bauru,
EDUSC, p. 53-83.
REUTER, Y. 2002. A análise da narrativa. O texto, a ficção e a narração. Rio de
Janeiro, Difel, 190 p.
RODRIGUES DA SILVA, H. 2002. As mutações dos paradigmas intelectuais
na França (1945-2000): movimento de profundidade e força de modismos. In:
RODRIGUES DA SILVA, H. (ed.). Fragmentos da história intelectual. Entre
questionamentos e perspectivas. Campinas, Papirus, p. 29-45.
51
RÜSEN, J. 1996. Narratividade e objetividade nas ciências históricas. Textos de
História, 4(1):75-102.
SILVA JR., A.L. da. 2003. Números na história: apontamentos sobre o uso de
fontes quantitativas e seriais. História UNISINOS, 7(8):189-223.
STONE, L. 1991. O ressurgimento da narrativa: reflexões sobre uma nova velha
história. RH: Revista de História, 2/3:13-37.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 51 24/1/2005, 11:38
WHITE, H. 1987. The value of narrativity in the representation of reality. In:
WHITE, H. (org.). The content of the form. Narrative discourse and historical
representation. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, p.1-25.
WHITE, H. 1994a. O texto histórico como artefato literário. In: WHITE, H.
(org.). Trópicos do discurso. Ensaios sobre a crítica da cultura. São Paulo, EDUSP,
p. 98-116.
WHITE, H. 1994b. Teoria literária e escrita da história. Estudos Históricos,
7(13):21-48.
52
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 52 24/1/2005, 11:38
A marca pedagógica da narrativa:
um princípio educativo?
(Comentários a Temístocles Cezar
e Cláudio Elmir)
Edla Eggert*
Procurei refletir sobre a narrativa trazida hoje aqui
a partir das leituras do campo das teóricas feministas. E
para isso resgato um aspecto de cada texto. No primeiro,
“A narrativa e o conhecimento histórico”, busco pensar
no que Cláudio diz sobre a narrativa “que nunca deixou
de estar no lugar onde sempre esteve, [...] no texto do
historiador”. E que regenerar a narrativa significa dar-se
conta dessa presença e aceitá-la. E mais: saber da riqueza
das teorias literárias que contribuem para o redimen-
sionamento da interlocução com o texto e com a história.
No segundo texto, “A narrativa como um problema teó-
rico no século XIX”, destaco a narrativa descritiva x nar- 53
rativa analítica/científica perfazendo uma distinção entre
o modo de fazer história desmerecendo mais a descritiva e
valorizando mais a analítica.
*
Professora do curso de Graduação em Pedagogia e no Programa de Pós-Gradu-
ação em Educação da UNISINOS. Mestre em Educação pela UFRGS e doutora
em Teologia pela Escola Superior de Teologia.
HISTÓRIA
HISTÓRIAUNISINOS
UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ p.2004
53-59
Historia10.p65 53 24/1/2005, 11:38
Gostaria de pensar essas duas questões pinçadas por
mim na responsabilidade de “dar minha contribuição para
o debate” e dizer que fiquei pensando no quanto essa
temática pode estar relacionada com a participação das
mulheres no mundo da academia. Explico-me: elas insis-
tiram, brigaram, algumas inclusive pagaram com a vida e,
ao tentarem se colocar, aparecem no mínimo duas ver-
sões dessa participação. Uma em que elas juraram (e ain-
da juram) não fazer nenhum estardalhaço e se igualarem
aos homens fazendo bem igualzinho como tudo que já vi-
nha sendo feito, e uma outra em que elas ousaram pensar
a sua existência criando, assim, um mal-estar e uma pro-
vocação em relação a tudo o que já foi produzido na his-
tória do conhecimento. Então entra a narrativa como uma
forma de apresentar a experiência da história das mulhe-
res. O mundo acadêmico construído na lógica andro-
cêntrica vai reagir prontamente a essa postura e definirá
essa produção como sendo muito superficial, ou apenas
descritiva... mas vejamos o que vem sendo escrito pelas
feministas nessa discussão.
O poder de nomear vem sendo sutilmente contro-
lado pelas instituições patriarcais, mas, segundo Fiorenza,
os trabalhos intelectuais feministas são muitas vezes rotu-
lados e discriminados pelas próprias feministas, como no
caso das mulheres que se manifestaram no século passado
e foram esquecidas, sendo resgatadas somente a partir de
1980. Foram vítimas desse silenciamento Matilda Joslyn
Gage (1826-98) e Hedwig Dohm (1833-1919) (cf.
Fiorenza, 1995, p. 12-14)1 . Outra forma de desmerecer e
controlar o trabalho intelectual feminista é quando as ins-
54 tituições patriarcais buscam redefinir e reavaliar esse tra-
1
Na história do trabalho intelectual brasileiro, duas mulheres também foram
resgatadas somente depois da década de oitenta: Nísia Floresta, que escrevia
sobre a educação das mulheres e dirigiu uma escola para moças no Rio de
Janeiros nos anos 1938-1849 (veja em Floresta, 1989), e Maria Lacerda de
Moura, que escrevia sobre educação, casamento, divórcio e religião (veja Leite,
1979).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 54 24/1/2005, 11:38
balho “em termos de escala predominante para os valores
patriarcais” (Fiorenza, 1995, p. 14). Basta observar o
rechaço da palavra “feminista”, que foi redefinida, e como
funciona o amedrontamento de ser chamada de feminista
radical. O processo de identificar é outra sutileza que
Fiorenza aponta como forma de “dividir para conquistar”
(Fiorenza, 1995, p. 15). Quanto mais divisões, maior fica
a impressão de desorganização e contradição.
Fiorenza (1992), no seu livro As origens cristãs a par-
tir da mulher, rememora a narrativa da paixão no Evange-
lho de Mateus, apontando para o “esquecimento” da ação
simbólica da mulher que unge Jesus com o bálsamo. Como
cristãos lembramos facilmente de Judas, que traiu, e de
Pedro, que renegou a Jesus. Lembranças pouco agradá-
veis, enquanto o gesto da mulher, que tem cheiro, sabor,
misericórdia, paixão, passa quase desapercebido e, quan-
do lembrado, tem gosto de transgressão (Fiorenza, 1992,
p. 9-10)2.
A narrativa, como processo de descoberta no con-
texto das ciências humanas, vem contribuir na constru-
ção de um conhecimento marginalizado pela academia
há séculos. A teóloga Rebecca Chopp relaciona estudos
em que utilizou a narrativa para resgatar a experiência e
estruturar a educação teológica de mulheres estudantes
em seminários teológicos (Chopp, 1995).O texto de
Rebecca Chopp está impregnado de sua experiência de
ensinante de Teologia. Ela vai trazendo sua narrativa ao
mesmo tempo em que faz uma análise de como percebe,
enquanto professora, o que é estar sendo aluna e aluno no
processo de educação teológica depois de 20 anos de teo-
ria feminista e de teologia feminista. Uma das suas ques- 55
tões fundamentais é: quem são os sujeitos da educação
teológica hoje? A autora vai definindo o perfil de estu-
dantes de Teologia a partir do exercício da construção
2
Veja também um texto sobre os cheiros das mulheres que invadem a teologia
em Pereira (1996, p. 98-101).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 55 24/1/2005, 11:38
das narrativas e também de entrevistas. As mulheres são
o alvo principal na sua proposta investigativa, pois che-
gam com uma presença cada vez maior nas escolas e se-
minários teológicos. A autora chama de prática narrativa
o processo de escrever a própria história. Ela analisa as
mudanças simultâneas e rápidas vividas pelas mulheres
nas últimas décadas. A partir da Segunda Guerra Mundi-
al, mudanças culturais, econômicas e político-sociais atra-
vessaram o cotidiano das mulheres desde o trabalho, pas-
sando pela pílula anticoncepcional, pela escolha de par-
ceiros e pela escolha da própria sexualidade, até a per-
cepção atual das funções familiares. Salienta que há uma
narrativa dominante normatizando e encobrindo a diversi-
dade de práticas e das narrativas das mulheres. A existên-
cia dos estudos feministas tem contribuído significativamen-
te para compreender a complexidade dos processos insti-
tuídos que foram delineando as divisões de gênero.
Essa prática narrativa de Rebecca Chopp (1995)
nomeia, recria o processo de escrever a própria história.
A narrativa identifica a experiência vivida de mulheres
como uma descrição do processo de suas vidas e da sua
educação. Para as mulheres, e talvez também para os ho-
mens, a necessidade de escrever sobre as suas vidas não é
um luxo, mas uma necessidade vital da existência. O po-
der de escrever a própria vida como um agente vivo é o
poder de participar, potencial e atualmente, na determi-
nação das condições culturais e institucionais. A autora
analisa as mudanças simultâneas e rápidas vividas pelas
mulheres nas últimas décadas. Mudanças culturais, eco-
nômicas e político-sociais que atravessaram o cotidiano
56 das mulheres, a partir da Segunda Guerra Mundial, des-
de o trabalho, passando pela pílula anticoncepcional, pela
escolha de parceiros e pela escolha da própria sexualida-
de, até a percepção atual das funções familiares. Salien-
ta que há uma narrativa dominante normatizando e en-
cobrindo a diversidade de práticas e das narrativas das
mulheres.
A modernidade instituiu e confirmou os valores
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 56 24/1/2005, 11:38
masculinos na esfera pública, enquanto a esfera privada
seguiu apreendida pela definição feminina, desvalorizada
e dependente. Com relação ao conhecimento, temos a
marca do masculino visto objetivo universal e autônomo,
enquanto que o conhecimento feminino é visto como
experiência muito mais ligada à educação e aos cuidados
com o outro, e com as frivolidades do cuidado consigo
mesma para agradar ao homem. Com base nessa leitura
de mundo, as teóricas feministas dos mais variados cam-
pos tomam a narrativa como um método para reconstruir
o mundo da experiência e do conhecimento das mulhe-
res. Michelle Perrot (2001) poderia ser citada pelo cam-
po da história, bem como Natalie Davis (1997) com o
seu livro Nas margens (Davis, 1997; Perrot, 2001). Mas é
na Antropologia que vamos aprender a importância da
narrativa para iniciar um processo investigativo no cam-
po da Educação. Eu diria que a narrativa é um princípio
educativo na produção do conhecimento das mulheres no
século XXI.
O trabalho de Natalie Davis exemplifica bem a
importância da investigação histórica em materiais de fon-
tes que nem sempre foram bem vistas pela academia: os
diários e cartas. Material produzido em abundância pelas
mulheres de um passado não tão distante. No livro Nas
margens, a historiadora se ocupa em reconstruir a narrati-
va visibilizadora de três mulheres do seu tempo e que, de
certa forma, fugiram aos padrões vigentes. Com esse exer-
cício ela consegue nos mostrar um quadro que se asseme-
lha com a história de muitas mulheres que sempre estive-
ram presentes na história, mas não foram reconhecidas
em seus espaços, até porque nos espaços públicos elas não 57
eram consideradas indivíduos até quase a metade do sé-
culo Contrato nº - art. 97, conforme a teorização de Joan
Scott (2002) em seu livro Cidadã paradoxal.
Na Antropologia temos uma vasta produção de
pesquisa onde a narrativa se faz presente como instrumental
metodológico para as feministas. Trago aqui uma das pes-
quisas de Suely Kofes (2001) com a narrativa de pessoas
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 57 24/1/2005, 11:38
sobre a vida de uma mulher em Goiás, Consuelo Caiado.
Sem querer focar apenas uma mulher exótica ou excepci-
onal, a pesquisadora vai narrando e analisando todo o
contexto patriarcal que envolvia as possíveis escolhas de
vida de uma mulher num tempo e num espaço histórico.
Na Educação vamos encontrar Sonia Kramer (1998;
2002), que vem ampliando a construção narrativa no
contexto das práticas pedagógicas vivenciadas em sua gran-
de maioria pelas mulheres professoras (Kramer e Jobim,
1996; Kramer, 2001). A produção de pesquisas que de-
vem ser consultadas nos atuais pós-graduações em todo o
Brasil exemplifica bem o que tenho afirmado sobre a ex-
periência da narrativa (e não vou entrar no mérito das
discussões dos historiadores sobre se é narrativa descritiva
ou analítica) no campo da educação como um princípio
educativo em que as mulheres, ao falarem, (d)escreverem
sobre as suas experiências, passam a enxergar a possibili-
dade da construção de um conhecimento até então não
visibilizado.
Muito obrigada pela oportunidade de leitura e diá-
logo com esses dois autores nessa jornada do Curso de
História, que me parece um belo ensaio acadêmico
interdisciplinar.
Referências
CHOPP, R. 1995. Saving work. Feminist practices of theological education.
Louisville, Kentucky, Westminter John Knox, 132 p.
58 DAVIS, N. 1997. Nas margens. Três mulheres do século XVII. São Paulo, Com-
panhia das Letras, 326 p.
FIORENZA, E.S. 1995. Discipulado de iguais. Uma ekklesia-logia feminista críti-
ca da libertação. Petrópolis, Vozes, 404 p.
FIORENZA, E.S. 1992. As origens cristãs a partir da mulher. Uma nova
hermenêutica. São Paulo, Paulinas.
FLORESTA, N. 1989. Opúsculo humanitário. Introdução e notas de Peggy
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 58 24/1/2005, 11:38
Sharpe-Valadares, 164 p.
KOFES, S. 2001. Uma trajetória, em narrativas. Campinas, Mercado de Letras,
192 p.
KRAMER, S. 2001. Alfabetização – leitura e escrita. São Paulo, Ática, 213 p.
KRAMER, S. e JOBIM, S. 1996. História de professores. São Paulo, Ática, 160 p.
LEITE, M.L.M. 1979. Quem foi Maria Lacerda de Moura. Revista Educação e
Sociedade, 1( 2):5-24.
PEREIRA, N.C. 1996. Malditas, gozosas e devotas – mulher e religião (Dossiê
Ivone Gebara). Revista Mandrágora, 3(3):9-16.
PERROT, M. 2001. Os excluídos: operários, mulheres e prisioneiros. 3a ed. Rio de
Janeiro, Paz e Terra, 332 p.
SCOTT, J. 2002. A cidadã paradoxal. As feministas francesas e os direitos do
homem. Florianópolis, Ed. Mulheres.
59
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 59 24/1/2005, 11:38
60
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 60 24/1/2005, 11:38
Crônica: fronteiras da narrativa
histórica
Sandra Jatahy Pesavento*
Resumo:
O texto procura analisar a crônica como um gêne-
ro literário de fronteira, entre literatura e história, e que
se caracteriza por realizar uma leitura sensível do tempo,
seja para inventar o passado, explicar o presente ou cons-
truir o futuro.
Palavras-chaves: crônica; narrativa histórica; ficção; imaginá-
rio; sensibilidades.
Resumé:
Le texte analyse la chronique comme un genre
littéraire frontalier, entre la litteráture et l’histoire, et qui
se caracterise comme une lecture sensible du temps, soit
pour inventer le passé, expliquer le présent ou construire
le futur. 61
Mots-clé: chronique; narrative historique; ficción; imaginaire;
sensibilités
*
Professora do curso de Graduação e do Programa de Pós-Graduação em Histó-
ria pela UFRGS. Mestre em História da Cultura pela PUCRS e doutora em
História Social pela USP.
HISTÓRIA
HISTÓRIAUNISINOS
UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ p.2004
61-80
Historia10.p65 61 24/1/2005, 11:38
Principiemos pelo grande desafio com que se de-
frontam os investigadores dos domínios de Clio: como se
constrói a narrativa histórica?
Uma idéia na cabeça, uma pergunta nos lábios, con-
cebidas à luz daqueles instrumentos para interrogar o
mundo a que chamamos conceitos; uma escolha e um re-
corte da realidade, construído como objeto de pesquisa,
onde se divisa uma trama; um olhar sobre o passado, em
busca de sinais emitidos por um outro tempo, erigidos como
marcas de historicidade e como pistas para o desvendar
daquela questão, antes formulada, e com vistas a respon-
der àquela pergunta feita; a mise en récit, esforço retórico e
de escrita, de molde a fornecer uma explicação convin-
cente e plausível, onde se realize a reconfiguração de um
tempo, com vistas a dar a ver e ler uma versão, o mais
próxima possível, daquilo que teria sido um dia; uma meta
e um desejo de veracidade e, como resultado, uma narra-
tiva verossímil, que explica e revela a solução encontrada
para a decifração do enigma proposto.
Não seria esta, não tem sido esta, a performance da
escrita da História, ao longo do tempo?
Partamos do princípio de que esta seja uma receita
para o fazer História, ou seja, para a construção de uma
narrativa que representa o passado. Mas, deste processo,
queremos nos deter em um certo elemento, aquele sem o
qual não há trabalho de História possível de ser feito:
referimo-nos às tais marcas de historicidade, os tais regis-
tros que objetivam a existência de algo e que assinalam a
passagem do tempo.
Nesta medida, poderíamos dizer que, de uma cer-
62 ta forma, frente ao desafio de enfrentar a decifração do
passado, o historiador o mundo à sua disposição, sob a
forma dos mais diversos traços que restaram de um ou-
tro tempo.
O olhar do historiador constrói alguns destes regis-
tros como fontes, ou seja, como indícios e possibilidades
de resgate daquilo que ele busca encontrar no passado.
Detenhamo-nos em uma marca de historicidade muito
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 62 24/1/2005, 11:38
específica, a qual tem sido cada vez mais trabalhada pelos
historiadores. Referimo-nos à crônica, este registro privi-
legiado para o acesso a um tempo passado e que, no caso,
tratamos como uma fonte para a História.
A realidade, bem o sabemos, é complexa, e as for-
mas de dizê-la e representá-la também o são. A História,
no caso, é mestra em se valer de várias e distintas narrati-
vas. A História as usa como recursos para criar, ela pró-
pria, a sua representação sobre o passado, que é o seu
campo de ação.
No caso em pauta, tratamos a História como o lu-
gar de onde se formula a questão e se elabora um discur-
so, o qual se vale da crônica como uma fonte narrativa.
Não se trata de estabelecer uma hierarquia entre narrati-
vas, mas de estabelecer o lugar da fala, ou do estabeleci-
mento de uma interrogação sobre o mundo.
Antes de tudo, cabe esclarecer que trataremos a
crônica na sua acepção contemporânea, ou seja, aquela
narrativa curta, difundida pelos jornais, frente a um mun-
do transformado pela modernidade urbana e pelos meios
de comunicação de massa, tal como se processou na civi-
lização ocidental a partir do século XIX. Nesta instância,
a crônica é aquele artigo de consumo diário, rápido e pre-
ciso, que se apresenta como produto a ser consumido por
um público leitor de jornal.
Em estudo seminal, Antonio Candido (1992) cha-
mou a crônica de relato da vida ao rés-do-chão, e, em
determinado ensaio, nós a analisamos como uma leitura
sensível do tempo (Pesavento, 1997). Tais reflexões so-
bre a crônica nos remetem, imediatamente, à sua capa-
cidade de registro do cotidiano e das sensibilidades, o 63
que a tornaria, por assim dizer, uma fonte muito rica e
especial para o historiador, sobretudo se este estiver in-
teressado em acessar as formas pelas quais os homens,
em um outro tempo, construíam representações sobre si
próprios e o mundo.
A análise da crônica poderia se dar a partir da sua
inserção como gênero literário de fronteira, entre a Lite-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 63 24/1/2005, 11:38
ratura e a História, estabelecendo uma reflexão sobre se o
autor, ao escrever a crônica, está a fazer uma história de
seu tempo. Ou então se poderia ainda discutir se, como
Literatura, a crônica se enquadraria como um gênero maior
ou menor, diante de outros gêneros consagrados, como o
romance ou a poesia. Tais questões, a rigor, já se acham
abordadas nos estudos citados, assim como em muitos
outros trabalhos críticos.
Já adiantamos, contudo, que pretendemos tratá-la
como fonte, ou seja, como meio ou instrumento para o
historiador atingir o passado, e, sob esta condição, busca-
mos analisar o seu potencial de revelação para o conheci-
mento de um outro tempo. A fonte é mediação entre o
que teria sido e a representação que deste ter sido se cons-
truiu. A fonte, como diz seu nome, é manancial de onde
brotam possibilidades para desvendar uma trama que foi
urdida.
Mas a fonte já é, em si mesma, uma representação
do passado e se coloca como base para a representação
que, por sua vez, o historiador construirá sobre aquele
passado.
Neste sentido, nossa abordagem da crônica se reali-
za sob um plano epistemológico – a natureza da sua escri-
ta – e sob o seu potencial de uso para o fazer História, que
é o da reconfiguração do tempo.
Ora, entendemos que a primeira consideração a ser
feita é a de que a crônica é uma narrativa de fronteira,
mas fronteira enquanto modalidade ficcional na
reconfiguração de um tempo.
Como premissa desta abordagem, talvez até dispen-
64 sável no debate acadêmico contemporâneo, nos defini-
mos pela concepção que admite, para a escrita da Histó-
ria, o uso de recursos fictivos, pelo que esta abordagem
não pretende opor, de maneira antitética, uma história-
verdade-ciência a uma crônica-arte-ficção.
Principiemos pelo ato da escrita, que põe em cena
o cronista, aquele que faz do tempo presente, tempo do
vivido, a sua fonte de inspiração. Sob uma ótica realista,
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 64 24/1/2005, 11:38
o cronista mostraria, para o historiador, a temporalidade
da escrita com a vida tal como era neste momento, ou,
pelo menos, aquilo que nela chamava a atenção ou preo-
cupava os homens da época. Em certa medida, a tradu-
ção do presente pela escrita, que pode girar em torno do
cotidiano ou do fato excepcional e, sobretudo, das sensi-
bilidades e sociabilidades de um determinado contexto,
atribui à crônica um certo valor, digamos assim, docu-
mental.
Como diria o cronista do jornal porto-alegrense, a
falar sobre um dos mais famosos redutos da sociabilidade
masculina da cidade, o café América, em crônica que nos
permite visualizar espaços e práticas sociais urbanas na
virada do século:
O América, o ponto melhor da Rua dos Andradas e onde se
reúnem advogados, médicos, comerciantes, poetas literatos,
noticiaristas, boêmios inteligentes e extravagantes e do melhor
que possui o nosso meio social, aos domingos é visitado pela
simpática rapaziada caixeiral, sempre correta e unida, que,
elegantemente vestida, provoca olhares etéreos e cristalinos de
criaturas meigas e tentadoras, felizes e sedutoras.1
Por outras, é uma prática do cotidiano dos habitan-
tes que é criticada pelo cronista, a fornecer flashes do viver
em cidade da época, marcando o cotidiano da cidade:
Oh! Mas este hábito de parar no meio da calçada e aí fazer ponto
de rendez-vous, é simplesmente intolerável! Nós não quere-
mos, é claro, que se ponha em prática o civilizadíssimo “circulez,
messieurs!” das metrópoles. Os que andam a negócio, que têm
urgência de chegar a qualquer lugar, não podem estar a toda a
hora a desviar-se dos pequenos grupos e “meetings” pacíficos 65
que obstruem o trânsito.2
Esta espécie de crônica social ligeira, que registra o
1
O Independente, 06.10.1895.
2
Kodak, 08.09.1917.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 65 24/1/2005, 11:38
cotidiano da cidade insere, no presente, uma tempora-
lidade desejada; o futuro já chegou, Porto Alegre é já uma
metrópole, com gente apressada, com um grande movi-
mento nas ruas, onde se registra a presença deste novo
personagem que faz entrada na modernidade urbana: a
multidão. Tal crônica se realiza retratando um sentimen-
to, por assim dizer, progressista do viver urbano. A crôni-
ca é, no caso, registro sensível de um presente que já se
inscreve no futuro, onde o que conta é a percepção do
tempo que se vive, que, no caso, é um tempo acelerado.
Assim, a crônica, tal como a literatura, a pintura, a
fotografia, é testemunho de si próprio, ou seja, do tempo
presente de sua feitura, que faz perceber e qualificar o real
desta ou daquela forma.
Tal valor referencial não pode, contudo, ser en-
tendido como transparência, pois retiraria do ato da
escrita todo o seu potencial criador. Mesmo registran-
do o observável no tempo do presente, o que cabe dis-
cutir é o caráter alegórico da escrita – este dizer de outra
forma, dizendo além – que faz da crônica uma narrati-
va que enuncia outras realidades do presente, sugeridas
pela escrita.
Não podemos esquecer que é próprio da crônica o
registro do banal, daquilo que não chama a atenção e que
passa desapercebido, mas que, pela mise en récit, recebe
um destaque. Nesta medida, o banal ou o corriqueiro tor-
na-se traço ou sintoma para que se pense em outra coisa,
para além daquilo que é dito ou sugerido pelo autor.
Tomemos o exemplo de uma crônica cotidiana
de um jornal da década de 1880, em Porto Alegre, O
66 Século. Se o cronista d’O Século registra o que chama
de uma degradante cena – a passagem pelas ruas da
cidade de um miserável homem de cor preta, um des-
graçado escravo que fugira da casa de seu algoz, amar-
rado por cordas e conduzido, à maneira dos animais,
por policiais e capitães de mato até a cadeia civil, onde
seria, naturalmente, surrado por aqueles agentes da lei
–, seu comentário era de que tais cenas eram, em tudo,
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 66 24/1/2005, 11:38
repugnantes, depondo contra a civilização da socieda-
de em que tinham lugar. 3
Levando em conta a conjuntura do momento, vê-
se que a narrativa deste incidente do cotidiano da cidade
– cotidiano para a desgraça da capital que se queria civi-
lizada – assumia os tons críticos e próprios da postura
abolicionista, onde o escravo fugido era chamado de Cristo
preto e os que o acompanhavam de fariseus. O registro do
tempo do presente explicita a crítica do contexto políti-
co-social, dando a ver uma postura que aspirava clara-
mente a uma modificação da ordem instituída.
Por vezes, o cronista se encarrega de apontar as re-
lações a serem feitas entre a situação cotidiana explícita e
a questão implícita. Por outras, o cronista fornece as pis-
tas, mas a revelação se dará pela sagacidade do leitor de
recriar a realidade que se entrevê no texto. Há, pois, um
desvelamento de sentidos que se espera obter com a lei-
tura, face a esta narrativa que mais sugere do que afirma e
que, no mais das vezes, se reveste da ironia para realizar
sua crítica.
É o caso específico de Germano Hasslocher, reda-
tor do jornal A Gazeta da Tarde, que criava verdadeiras
páginas literárias para desnudar as mazelas do seu tempo
presente. Em uma de suas crônicas da coluna Dia a dia,
Hasslocher conta a história de uma entrevista ocorrida,
presumivelmente, entre sua esposa e uma candidata a
empregada doméstica. Finda a entrevista – impagável
pelas exigências de pernóstica crioula –, ele, o dono da
casa, que fumava seu charuto à parte, sem se imiscuir
nas tratativas da mulher com a aspirante a criada, resol-
ve chamá-la para uma análise que estava a realizar sobre 67
um problema do cotidiano da cidade: aquele do serviço
doméstico. E, neste sentido, passa a entrevistar a tal cri-
oula, que lhe dá contas do comportamento dos patrões
naquele novo mundo sem escravos, mas que se pautava
3
Degradante cena, 17.07.1881.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 67 24/1/2005, 11:38
ainda pelas antigas regras e vícios da senzala e também
da sem-vergonhice dos negros, fruto daquele mesmo ter-
rível sistema.
Filosoficamente, o cronista acabava por dar razão
aos negros, restaurando para o presente um passado ainda
recente que comprometia o futuro:
E só então compreendi a resolução do problema do serviço
doméstico. Enquanto os anos não passarem muitos, sob a recor-
dação do relho do senhor de escravos, negro não pode ser bom
criado. E, coisa singular: na confissão tão positiva e terminante
daquela crioula, que dizia que o outro vício da escravidão era a
falta de vergonha do negro, eu vi exatamente o contrário do que
ela afirmava, uma inconsciente ironia de quem não percebe o
sentimento de pundonor brotando silencioso num terreno antes
árido, safaro (sic) como era a alma do negro, durante tantos
anos explorado pela infâmia humana, dourada com o nome de
um direito. Dançai, pulai, diverti-vos bem e dormi a sesta à
vontade fazei sofrer esta sociedade, vós que sois um genuíno
produto seu! (Hasslocher, 1896).
Sob tal aspecto, a crônica, tal como a literatura,
partilha desta capacidade ou potencialidade ficcional de
expressar o invisível, o implícito, o imperceptível, de re-
velar o não dito, de descobrir novas verdades da vida, de
expor/escondendo o que não encontraria expressão escri-
ta de outra forma. Sob tal viés, a crônica é escrita de fron-
teira do próprio presente que se dispõe a narrar, como
escrita capaz de transcender a sua temporalidade e de des-
locar um sintoma do cotidiano para o plano do universal.
A crônica, enquanto fronteira do tempo presente,
partilha desta capacidade imaginária de reconstrução do
68 mundo, revelando uma outra realidade. A crônica possui
uma capacidade de recriação da realidade por um mundo
paralelo de palavras e imagens, processo este que se esta-
belece no âmbito da escrita e se complementa naquele da
leitura.
Este potencial é tão amplo que até a ausência de
registros – a terrível falta de assunto – dá margem a uma
narrativa sobre o vazio do acontecimento, ou sobre a ba-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 68 24/1/2005, 11:38
nalidade da vida, ou ainda sobre o próprio ato da escrita,
operando como porta, janela ou soleira para o ingresso
em outras dimensões do mesmo presente.
Veja-se, a propósito, um trecho da crônica de um
certo Chevalier de la Lune, a escrever, em 1913, na revis-
ta Kodak, e a parodiar conhecida poesia, falando sobre o
tempo que passa e a própria escrita da crônica, mas tam-
bém sobre o marasmo da cidade:
Mais uma semana... mais outra... E que elas voam assim
como as pombas do poeta, e não voltam mais. De sorte que o
cronista é como um ponteiro no relógio do tempo. Um ponteiro
– mas rombo e irregular: rombo, porque deforma os fatos ao
crivo de uma impressão, irregular, porque a alma é que faz a
duração do tempo (Lune, 1913).
Sob a alegação de que é segunda-feira e, como tal,
nada acontece, ao que se somam a fadiga deixada pelo
domingo e o dado de que os fatos escasseiam, o cronista
deixa entrever uma cidade com um tempo imóvel, frus-
trando-se o cronista à sua missão de narrar algo sobre a
vida, que é sempre movimento. Terminando por falar do
absolutamente irrelevante para o leitor – a sua dor de
dentes... – ,ele deixa implícita a repetição fastidiosa de
um cotidiano banal!
Uma espécie de escrita do nada, construída no va-
zio da notícia, revela uma mesquinha vida urbana. Na
mesma linha se inserem os comentários do conhecido cro-
nista Paulino Azurenha, quando, irônico, constrói, como
assunto de sua narrativa, a passagem de uma nuvem de
gafanhotos pela cidade:
69
Quebrando a suave monotonia do delicioso viver dos habitantes
de uma cidade assim, em que habitualmente reina uma placi-
dez edênica, é claro não haver, senão lá de espaço a tempo, fatos
de alta monta. De costume, é esta invejável pasmaceira, a que
até a passagem de uma nuvem... de gafanhotos abre ensejo para
o comentário e a distração pública (Azurenha, 1926, p. 127).
Paulino Azurenha, no caso, utiliza em sua narrativa
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 69 24/1/2005, 11:38
a metáfora dos gafanhotos que vão e vêm, retornando à
cidade, para discutir o olhar desde fora sobre Porto Ale-
gre e mesmo as possibilidades de reconhecimento ou
estranhamento que estariam presentes na apreciação da-
quele que retornasse à cidade após um período de longo
afastamento. A postura de Azurenha, o festejado cronista
Leo Pardo, aparece como sintoma de uma sensibilidade
diante da cidade. Os cronistas, escritores do presente, nos
sugerem um tipo de atitude de expectativa e frustração
diante de um urbano sem emoções, como que paralisado
no tempo. Esta postura é oposta àqueles que viam, na
cidade de então, a realização de um futuro desejado.
Mas as crônicas podem, também, referir-se a um
outro tempo, no passado. São elas as narrativas
memorialísticas, quase sempre baseadas, na maioria dos
casos, na experiência e nas recordações de alguém que
viveu, viu e ouviu um outro tempo. Tais crônicas são es-
pecialistas em assinalar a diferença entre o tema/objeto
da recordação tal como era no passado e o tempo da nar-
rativa, o presente onde se realiza o ato de rememorar. Não
raro, esta diferença no tempo é qualificada e, muito
freqüentemente, é julgada como uma perda.
Achylles Porto Alegre foi, no caso, um cronista que
deixou inúmeras narrativas deste tipo sobre a capital gaú-
cha. Lamentando as transformações da cidade, que a dei-
xavam, por vezes, irreconhecível para aqueles que havi-
am vivido um outro tempo, o tom nostálgico do cronista
confere ao passado uma valorização positiva, face às per-
das trazidas pelo presente:
70 Volvendo, de vez em vez, os olhos da memória para estes tem-
pos [...] vemos então que o progresso, no fim de contas, não é
senão uma esponja, apagando páginas e páginas de história,
com a destruição e o desaparecimento de sítios que, fotografan-
do aspectos, deveriam conservar-se intactos e inteiros no seu
magnífico brilho tradicional (Carnioli (Achylles Porto Ale-
gre), 1920).
Acusado de ser um saudosista, que desejava a volta
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 70 24/1/2005, 11:38
de um tempo do passado, irrecuperável, o cronista se de-
fendia:
Quer queiram, quer não queiram, eu revivo, porque recordar é
viver, trechos e lances de vida já vivida. Recordar é retornar ao
que se foi, é voltar ao passado e ficar nele por instantes, vendo
com os olhos da memória as coisas como eram então, embora já
não existam ou estejam transformadas [...] É verdade que o
progresso, na sua faina transformadora, muda o aspecto aos
seres e às coisas, mas eu, quando quero, vejo tudo como era ao
tempo em que, moços, com a alma e o coração cheios de poesia,
olhavam a vida através de uma opala risonha (Porto Alegre,
1923, p. 7-8).
Perdas no desgaste físico das materialidades ou for-
mas do espaço construído que são erigidos em objeto da
rememoração, perda das experiências passadas em face
da irremediabilidade do seu retorno, perdas dos valores e
normas que orientavam as ações e que caíram em desuso,
perda dos atores que encarnaram certas idéias e que fo-
ram ultrapassados pelo tempo... Na grande parte das ve-
zes, estas perdas assinaladas dão margem a um caráter sau-
dosista, que assume a forma de um lamento e mesmo uma
avaliação: o passado era melhor... Neste caso, ver, no pre-
sente, o passado se converte em uma atitude de um dese-
jo impraticável: a volta do que passou.
Ora, esta diferença assinalada, diferença que intro-
duz uma alteridade a ser percebida, dada pela passagem
do tempo físico, instaura um outro tempo, construído pelo
ato de representar o passado no presente.
Nesta medida, a crônica memorialística partilha, com
a História, esta propriedade de reconstrução do passado
pela narrativa, dando a ver uma temporalidade que só 71
pode existir pelo esforço da imaginação. Há uma constru-
ção imaginária de uma temporalidade passada, que se
apresenta como verossímil pela autoridade da fala/narra-
tiva daquele que rememora e se apresenta como testemu-
nha de seu próprio relato. A enunciação – eu vi, foi as-
sim, foi então, eu estava lá – atesta a certeza do reencon-
tro do passado ou da correspondência da realidade com o
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 71 24/1/2005, 11:38
discurso, produzindo, senão a veracidade da narrativa, pelo
menos um efeito de verdade.
Como bem afirmou Paul Ricoeur (2000), a Histó-
ria não dispõe deste dispositivo de confirmação testemu-
nhal da memória consubstanciado na credibilidade da re-
cordação e no reconhecimento da lembrança. A História
se resigna a perseguir uma meta de veracidade, a pôr em
ação todo um dispositivo retórico e argumentativo e toda
uma estratégia metodológica de organização documental
para chegar o mais perto possível deste real do passado,
sem nunca poder alcançá-la in totum.
Mas trazer um outro tempo, nem passado nem pre-
sente, e sim uma outra temporalidade, é um esforço
ficcional dos mais árduos. A começar pelo fato de que
aquele que escreve a crônica memorialística enxerga com
os olhos do passado, vendo, no hoje, o ontem, na nova
materialidade erguida através do tempo, as outras, já
destruídas, que ali existiram um dia. Ver o que não mais é
possível ver, eis a tarefa narrativa que ultrapassa as fron-
teiras do próprio tempo do passado, reconstruindo-o pelo
imaginário da narrativa.
Por outro lado, este retorno ao passado pela memó-
ria é, também, uma forma metafórica de expressar o mun-
do, na qual a invenção do passado, além de tentar dizer
como teria sido, fala, sobretudo, do presente. Falar do
presente construindo o passado é uma maneira alegórica
de referir-se ao real de outra forma.
Por exemplo, a ameaça da mudança ou a iminência
de ser colocada em prática uma nova ordem torna explí-
cito o temor ou o pressentimento de que algo está preste
72 a desaparecer. A ameaça da perda gera uma busca pelo
passado, reforçando raízes, consagrando mitos de origens
e produzindo o esforço de lembrar. Estamos, neste ponto,
diante do processo da anamnese, deste trabalho voluntá-
rio de memória, que busca lutar contra o esquecimento.
O receio do futuro faz o presente agarrar-se ao passado,
apagando fronteiras de tempo e inventando uma nova
dimensão.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 72 24/1/2005, 11:38
É diante da ameaça da perda, da chegada da mu-
dança, da subversão de uma ordem ou de um projeto de
instalação de um novo tempo, o do futuro – como no
caso da formação dos estados nacionais –, que se processa
uma volta para o passado, inventando uma História ou
fazendo surgir a crônica memorialística, ambas construídas
como formas narrativas de reconfigurar o que passou.
E, neste ponto, chegamos à fronteira de uma outra
temporalidade, onde mais uma vez a crônica comparece
como lugar de ultrapassagem e criação imaginária. A crô-
nica é ainda fronteira no tempo do futuro, modalidade na
qual talvez seja mais perceptível o seu caráter ficcional.
Este tempo não realizado se configura na narrativa
como um tempo de sonho e desejo, fruto da imaginação
de quem, no presente, coloca suas expectativas e espe-
culações. A crônica que trabalha com o futuro é tam-
bém alegórica enquanto modalidade narrativa, na qual,
inclusive, se estabelece um jogo de cumplicidade com o
leitor. Este é, desde o início, esclarecido de que o cronis-
ta sonha ou devaneia, ou mesmo inventa um mundo in-
teiramente outro.
O leitor segue esta ficção sobre o futuro, que, em
tudo, contradiz a realidade do presente, narrativa esta
que quase sempre acaba por um acordar do cronista, com
o seu retorno ao cotidiano, contato com a realidade que,
não raro, se faz acompanhar de um sentimento de de-
cepção.
A crônica futurista introduz uma narrativa que, de
forma fantasiosa, com a qual o leitor é cúmplice, diz ver-
dades sobre o presente, sob a forma de um outro tempo.
O fato de estabelecer a instituição de um mundo de men- 73
tira não invalida a verdade do simbólico que esta narrati-
va contém. Situações irrealizáveis ou improváveis podem
ser lidas pelo seu reverso, e a ironia e a blague permitem
acessar sentimentos vividos e profundos.
Mesmo que algo seja irrealizável, isto não implica
que, uma vez, tenha sido concebido como forma de ex-
pressar um desiderato. Se assim não fosse, como analisar
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 73 24/1/2005, 11:38
as utopias, que não se medem pelo seu grau de realização,
mas pelo seu potencial de desejo e expectativa de que,
um dia, foram portadoras?
E, para confirmar a idéia de que a temporalidade
do presente é aquela que preside a composição da narra-
tiva, todos os elementos da situação imaginária do futuro
lá estão, retirados da contemporaneidade do cronista.
Poderão, sem dúvida, se apresentar com os sinais troca-
dos, em combinações absurdas, ou mesmo com um signi-
ficado hipertrofiado em termos de positividade ou
negatividade, mas seu arranjo, aparentemente inverossímil,
porta uma coerência de significado e uma ancoragem bem
concreta nos dados do presente. A crônica futurista, nes-
te aspecto, é tão cifrada ou inventiva na sua configuração
quanto os filmes de ficção científica, que dão a ver como
em um tempo dado se pensa o futuro.
Tome-se o caso da série de crônicas intituladas
Cousas Municipais, escritas por Felicíssimo de Azevedo e
publicadas no jornal A Federação, de janeiro a setembro
de 1884. Felicíssimo de Azevedo, este nosso cronista da
capital gaúcha, foi republicano de primeira hora e se apre-
sentara diante da Câmara Municipal de Porto Alegre para
prestar seus serviços como fiscal honorário da cidade. Já
aposentado e não precisando de remuneração alguma da
municipalidade, para viver, Felicíssimo de Azevedo se
propunha, voluntariamente, a zelar pela eficácia da admi-
nistração e dos serviços urbanos prestados à cidade. Deste
cargo, advertia aos vereadores, ele não poderia ser dis-
pensado, pois não fora nomeado, não recebia salário e
desempenhava suas funções como um direito seu, na sua
74 qualidade de cidadão.
Felicíssimo de Azevedo é talvez o mais acabado
exemplo de vivência e militância cidadã, entendida
como um direito seu e um dever diante da comunidade.
Não só entregava, duas vezes por semana, as suas obser-
vações e comentários sobre a cidade aos vereadores, como
dava esta crônica para ser publicada nas páginas d’A Fe-
deração, com o que estabelecia uma relação de cumpli-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 74 24/1/2005, 11:38
cidade e expectativa com o seu público leitor, também
de cidadão.
Pois bem, Felicíssimo de Azevedo fixa o presente
do que vê, anota, critica, denuncia e torna público. Sua
crônica oscila entre o registro do banal e corriqueiro do
cotidiano de uma cidade – um buraco em uma rua que
perturba o trânsito e os passantes, uma medida levada a
efeito pela Câmara Municipal naquele momento e que
ele considera errada e prejudicial à comunidade – e o co-
mentário de acontecimentos excepcionais para a vida da
cidade, como as preparações para a libertação antecipada
dos escravos que se daria em 7 de setembro de 1884.
Entre tais acontecimentos do tempo presente, o
fiscal honorário introduz um outro tempo: como fiscal-
cidadão, ele propõe e projeta uma outra cidade, ideali-
zando medidas, sugerindo o que fazer e – sobretudo –
dando a ver ao leitor, pela sua narrativa, como seria a
cidade do futuro!
Fechai os olhos, cidadãos vereadores e sonhai com o vosso belo
Porto Alegre daqui a 40 anos. O que vedes? Nada? Pois o vosso
fiscal honorário enxerga muita coisa bonita, apesar de tantos
horrores, deixados pela incúria da câmara. Não vedes aquela
Várzea, tão descurada no passado, rodeada de palácios magní-
ficos; aqueles soberbos hotéis, aquelas casas de comércio tão
luxuosas, aquela imensa onda de povo a correr apressado e a
desviar-se dos veículos de toda a espécie que cruzam em todas
as direções? (Azevedo, 1884).
Na mesma linha de antecipação do tempo que há de
vir, mas sob a forma do relato de um sonho, que de ante-
mão o leitor sabe que não ocorreu e que se trata de uma 75
narrativa, alegórica e crítica, sobre a situação da cidade de
Porto Alegre, se tem com Germano Hasslocher, quando
este relata que sonhara ser o intendente da cidade!
Extravagante o sonho que tive esta noite. Ouvi uma gritaria
enorme, atroadora, reclamações entusiásticas, foguetada es-
tourando no espaço, músicas vibrando hinos triunfais. Enfiei-
me num par de calças, enrolei-me num capote e cheguei à
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 75 24/1/2005, 11:38
janela para ver o que era aquilo. Mal a minha cabeça com os
cabelos emaranhados assomou à janela, redobraram as aclama-
ções, a foguetada estrugiu numa tempestade e os metais da
música abriram-se com a força dos hinos. Era comigo aquilo
[...] Vinham trazer-me felicitações por ter sido eu eleito –
intendente municipal.4
Germano Hasslocher se destacava por ser um críti-
co feroz e moralista no seu tempo, indo dos hábitos da
população aos procedimentos abusados dos libertos, para
chegar até a certas ineficácias da administração republi-
cana, apesar de ser um republicano feroz. A crônica em
questão é uma página de ardilosa ficção para mostrar o
quanto a cidade estava abandonada, mas que se inscreve
no reverso da posição de Felicíssimo de Azevedo: se este
critica o regime monárquico no seu ardoroso proselitismo
da causa republicana, Germano Hasslocher, ele mesmo
republicano ferrenho, lança uma denúncia sobre o que
considera a enorme tarefa a ser feita na remodelação da
cidade pelo novo regime instalado, tal como expõe ao
leitor a necessidade urgente de reformas para instalar a
modernidade urbana.
Neste sentido, ele é também um fiscal das necessi-
dades cidadãs, mas de dentro do regime. Busca mesmo
coagir os novos detentores do poder a agirem, para o que
busca, pela crônica-denúncia, relato de um sonho onde
se dizem verdades políticas, a cumplicidade do público
leitor. Ou, pelo menos, tenta convencê-los do que é pre-
ciso fazer... Sua conduta é a de apontar o mal – pela reve-
lação do sonho, no caso – para que uma nova conduta
política se instale. Mas tal processo implica uma
76 reconfiguração do que seja a cidadania, tal como anun-
cia, em seu sonho, o novo suposto e sonhado intendente:
Ides ter agora uma tirania municipal. [...] Sim uma tirania,
coisa de que necessitais para a vossa felicidade. Eu não cortejo
o povo, falo-lhe a dura verdade que há muito ele devera ter
4
Gazeta da Tarde,08.06.1895.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 76 24/1/2005, 11:38
ouvido. Sim, meus concidadãos, a cidadania que pretendes tem
sido a vossa desgraça. Firmados nela criais porcos nos vossos
quintais, construís casas que são o peristilo do cemitério,
amontoais o cisco no fundo dos vossos porões, despejais a imun-
dície na sarjeta das ruas, fazeis enfim o que quereis. Tudo isto
vai acabar. A soberania passa a residir exclusivamente em mim.
Os meus códigos aí estão: tratados de higiene, compêndios de
construções, etc., etc., etc. O meu olhar há de penetrar na
consciência de vossas habitações para fulminar os pecados que
lá encontrar. [...] Ah! Eu sou assim. Povo não tem juízos, não
tem critério; povo não foi feito para governar e sim para ser
governado e governo é o domínio de uma só cabeça.5
O despertar do cronista o leva a sentir um grande
alívio, tal a enormidade da tarefa que lhe fora apresen-
tada, de molde a fazer a capital gaúcha resolver seus
problemas... Germano Hasslocher se posiciona como
arauto do novo autoritarismo republicano? Parece que,
quer pela graça do estilo, quer pelo recurso literário do
sonho ou pela maneira alegórica de se referir ao real
sob uma outra forma, o cronista prepara o futuro de
uma nova administração republicana, demonstrando
que o progresso e a modernidade urbana implicavam
um autoritarismo ilustrado que reverteria em benefício
do povo, fulcro, portanto, de uma nova concepção de
cidadania.
Há ainda uma outra linha de cruzamento temporal
que se apresenta nas crônicas e que, mesmo jogando com
as dimensões da permanência e da mudança, confirma o
seu estatuto de serem narrativas do presente.
Tomemos o caso da crônica urbana mobilizada pela
idéia da modernidade. A modernidade urbana, enquan-
to processo que se desencadeia com a renovação capita- 77
lista do mundo e que tem o seu epicentro na cidade, é
renovação material e social do mundo, mas é também
uma nova expressão imaginária do real. Ela desperta
novas sensibilidades e expectativas, sendo uma delas a
da idéia da metrópole.
5
Ibid.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 77 24/1/2005, 11:38
Ora, o que é uma metrópole? Enquanto construção
imaginária de sentido, a metrópole é a cidade grande, onde
as coisas acontecem, onde se dá a produção do novo, onde
a vida se agita e as decisões são tomadas, espécie de espe-
lho do mundo onde tudo se reflete e concentra. Os soció-
logos tentam definir e classificar ou mesmo mensurar a
metrópole apresentando índices para a sua população,
território urbanizado, espaço edificado, prestação de ser-
viços e rede de comunicações, centro político de decisões
e vida cultural, etc.
Mas, para as pessoas que vivenciam este processo,
quando ele ocorre de forma lenta, mínima, e é, mesmo
assim, sentido por aqueles que o vivenciam de forma qua-
se revolucionária, o que seria a metrópole? As crônicas
urbanas são, nesta medida, muito interessantes, porque
registram impressões da vida, sensibilidades de uma épo-
ca que não são mais as nossas.
Tomemos o caso de Porto Alegre, mas acompanhe-
mos as crônicas que relatam as mudanças da cidade ao
longo do tempo. A cada sintoma de inovação urbana, a
modernidade é invocada e a condição de metrópole é lem-
brada. Do bonde puxado a burro para o elétrico, da en-
trada em cena da iluminação noturna à expansão dos ci-
nemas no centro da cidade, da inauguração do primeiro
viaduto à destruição dos becos, a constatação do
maravilhamento confirma: a modernidade chegou! Já so-
mos uma metrópole, enfim!
Dos anos setenta do século XIX a fin de siècle, dos
anos vinte às cirurgias urbanas das décadas de trinta e
quarenta do século XX, para chegar ao advento dos
78 shoppings centers dos anos oitenta, a cidade passou in-
gressando em modernidades sucessivas, a suspirar conti-
nuamente: enfim... A constatação pode, no caso, se re-
velar banal, pois na lógica da modernidade o novo é
sempre desbancado pelo mais novo. O que, contudo,
cabe registrar é o registro narrativo desta sensibilidade
no tempo: a percepção de que o futuro se antecipa e se
instala, ou mesmo atropela o tempo do presente. Há o
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 78 24/1/2005, 11:38
aspecto metonímico da supervalorização do elemento in-
dividualizado e icônico da mudança, fazendo ver, no todo,
a parte.
Tempos que se superpõem, que despertam novas
sensações, que constroem e mesmo deformam o olhar so-
bre o real são, desta forma, objeto de um registro narrati-
vo deste cotidiano sensível, experimentado na cidade. A
crônica opera, como narrativa do real, revelando as ditas
verdades do simbólico, ou seja, a veracidade do sentimento
e da experiência que faz com que, em cada época, seja
possível ser vivenciada como verdadeira a experiência da
modernidade ou da sensação de ser metrópole.
Fronteiras do tempo, as crônicas são, para o histori-
ador, narrativas que se constroem para além do verdadei-
ro e do falso, servindo para mostrar a capacidade imagi-
nária de construção social da realidade, para a qual as
convenções temporais não têm limites.
Se o historiador buscar encontrar nelas a confirma-
ção do real, dada a observação direta do cronista e a sua
tradução em narrativa, com certeza vai encontrar nelas
pistas, guardadas as injunções – ficcionais... – do seu tem-
po e de sua subjetividade ao retratar o mundo.
Se buscar na crônica os valores e o clima de uma
época, os conceitos produzidos pela experiência da reali-
dade sensível em um momento dado da história, sem dú-
vida ele encontrará neste tipo de narrativa todo um ma-
nancial de emoções, sentimentos, razões que um dia or-
denaram o mundo.
Se for à cata das formas pelas quais os homens fo-
ram capazes de realizar uma transfiguração fantasmática e
onírica da realidade, sem sombra de dúvida a crônica lhe 79
será uma fonte especial.
E se, principalmente, este historiador estiver inte-
ressado em ver como os homens, ao longo da sua história,
foram capazes de inventar o passado e imaginar o futuro,
sempre para explicar o presente, rompendo as fronteiras
do tempo, a crônica será, sobretudo, uma fonte exemplar,
quase inesgotável, para o seu trabalho.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 79 24/1/2005, 11:38
Referências
AZEVEDO, F. 1884. Cousas municipais. Crônica de 17.01.1884. A Federação,
Porto Alegre.
AZURENHA, P. de. 1926. Crônica de 11.08.1906. In: AZURENHA, P. de.
(org.). Semanário de Léo Pardo (crônicas). Porto Alegre, Globo.
CANDIDO, A. 1992. A vida ao rés-do-chão. In: CANDIDO, A. et al. (orgs.)
A crônica. O gênero, sua fixação e suas transformações no Brasil. Campinas,
Editora da UNICAMP.
CARNIOLI (Achylles Porto Alegre). 1920. O Teatro Apolo. Correio do Povo,
Porto Alegre, 26.05.1920.
DEGRADANTE CENA. 1881. O Século, Porto Alegre, 17.07.1881.
GAZETA DA TARDE. 1895. Porto Alegre, 08.06.1895.
HASSLOCHER, G. 1896. Dia a dia. Gazeta da Tarde, Porto Alegre, 08.01.1896.
KODAK. 1917. Porto Alegre, 08.09.1917.
LUNE, C. de la. 1913. Crônica. Kodak, Porto Alegre, 10.04.1913.
O INDEPENDENTE. 1895. Porto Alegre, 06.10.1895.
PESAVENTO, S.J. 1997. Crônica: a leitura sensível do tempo. Anos 90, 7:29-37.
PORTO ALEGRE, A. 1923. Serões de inverno. Porto Alegre, Selbach, 208 p.
RICOEUR, P. 2000. L’écriture de l’histoire et la représentation du passé. Annales,
HSS, 4:731-747.
80
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 80 24/1/2005, 11:38
Histórias e memórias da cidade
nas crônicas de Aquiles Porto
Alegre (1920-1940)
Charles Monteiro*
Resumo
As crônicas de Aquiles Porto Alegre, escritas entre
1915 e 1925 e selecionadas por Deusino Varela em 1940,
elaboravam a memória de uma “outra” cidade: a velha
Porto Alegre. Nessas crônicas era lembrada a pequena e
pacata cidade do século XIX, com aspectos interioranos,
que podia ser percorrida a pé, onde os habitantes se co-
nheciam e os nomes das ruas eram dados pelos seus mora-
dores. Entre a história e a literatura, estas crônicas tinham
um tom nostálgico e buscavam perpetuar a memória de
uma cidade menor, social e culturalmente menos com-
plexa diante de um presente instável e em rápido proces-
so de mudança.
Palavras-chave: memória – crônica - Porto Alegre – cultura 81
urbana – memorialistas – Aquiles Porto Alegre.
Abstract
The chronicles by Aquiles Porto Alegre, written
*
Professor do curso de História e no Programa de Pós-Graduação em História da
PUCRS. Mestre em História pela PUCRS e doutor em História pela PUCSP.
HISTÓRIA
HISTÓRIAUNISINOS
UNISINOS Vol.
Vol.88 Nº
Nº10
10 JUL/DEZ
JUL/DEZ p.2004
81-96
Historia10.p65 81 24/1/2005, 11:38
between 1915 and 1925 and selected by Deusino Varela
in 1940, elaborated the memory of “another” city: the old
Porto Alegre. In these chronicles the small and peaceable
city of the XIX´s was remembered, bearing countryside
aspects. A city that could be traversed on foot, in which
the inhabitants knew each other and the streets were
named by its dwellers. Between history and literature, these
chronicles carried a nostalgic mood and aimed at
perpetuating the memory of a smaller city, which was
socially and culturally less complex before an unstable
present going through a rapid process of change.
Key-words: memory– chronicle - Porto Alegre – urban culture
– memoralists – Aquiles Porto Alegre.
Num ensaio sobre crônica, história e cidade, Mar-
garida Neves de Souza perguntava-se o que o historiador
poderia aprender com a crônica (Souza, 1995, p. 23). Em
primeiro lugar, a respeito do processo de seleção realizado
pelo cronista sobre o cotidiano, visando interpretar um
acontecimento, a partir de sua ótica, para seus leitores
contemporâneos. A interpretação dos acontecimentos que
o cronista realiza em relação à temporalidade, cotidiana
ou do processo histórico, é uma das leituras possíveis do
real, e não o real “redivivo” como pretendiam os
positivistas em seu “nobre sonho” (Souza, 1995, p. 23). O
historiador, ao problematizar na escrita das crônicas os
recortes temáticos, temporais e o papel da subjetividade
do cronista nas suas interpretações sobre o cotidiano, po-
82
deria, também, reconhecer os mesmos procedimentos na
seleção dos seus documentos e nas suas interpretações.
A partir das crônicas pode-se pensar sobre as rela-
ções entre o tempo narrado e o tempo experienciado pelo
cronista: o do cotidiano e o que “mais alargadamente se
vive”. Podem-se problematizar as pontes entre a percep-
ção subjetiva do cronista e a construção social de expli-
cações sobre o tempo presente e sua relação com o passa-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 82 24/1/2005, 11:38
do, no sentido de que o cronista traduziria em sua escrita
uma construção social – de seu grupo, de uma camada da
sociedade – da percepção do tempo. Tradução que ele
faria através da forma particular de interpretar os aconte-
cimentos e de empregar a linguagem escrita visando co-
municar-se com um público leitor. Segundo Margarida
Neves de Souza, coloca-se ao historiador:
Uma primeira possibilidade a ser explorada é que ambas –
história e crônica – constroem memória, o que equivale a
reconhecer que desejam identidades, sejam elas identidades
de uma geração, sejam elas identidades de gênero, de grupos
sociais ou de recortes espaciais bem definidos. [...] Se é ver-
dade que a memória construída pela história tem como refe-
rência principalmente o recorte nacional, aquela que é tarefa
mais eminente da crônica é, sem dúvida, a memória da cida-
de (Souza, 1995, p. 25).
A crônica e a história podem ser consideradas “lu-
gares de memória”, segundo a definição de Pierre Nora,
pois se constituem em espaços materiais, simbólicos e fun-
cionais em que a memória é constantemente elaborada,
reelaborada e interpretada (Nora, 1984, p. XVII-XLII).
Por meio dessas duas diferentes formas de escrita, os gru-
pos sociais elaboram a memória coletiva, interpretando
os acontecimentos e os processos socioculturais, econô-
micos e políticos no tempo.
Crônica e história, de maneiras diferentes, são for-
mas de escrita que elaboram a passagem do tempo e a
memória de um grupo ou de uma sociedade por meio da
seleção proposta pelo filtro do tempo presente. Cronistas
e historiadores desempenham o papel social de intérpre- 83
tes da memória coletiva. Eles realizam uma leitura da
memória coletiva promovendo cortes, seleções, acrésci-
mos e silenciamentos. Ambos produzem uma memória
social, a partir da ótica e dos interesses de determinado
grupo, embora a sua escrita pretenda dar conta da experi-
ência social de toda a sociedade.
Uma escrita que, por meio de convenções de lin-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 83 24/1/2005, 11:38
guagem e normas disciplinares, expressa a interpretação
realizada por um grupo social e um campo profissional
sobre a memória coletiva, que é em sua origem plural,
polifônica, fragmentária e complexa. Escritas que, atra-
vés de suas particularidades formais e disciplinares, sele-
cionam sujeitos, tempos, espaços e tecem tramas, urdin-
do os acontecimentos na busca de interpretá-los para o
conjunto da sociedade.
Logo, é enquanto se apresentam como escrita soci-
al de um tempo, produção de interpretações de uma ex-
periência social urbana, como narrativas sobre o cotidia-
no da cidade, que se podem tomar as crônicas como “do-
cumentos”. 1 De antemão, admitindo-se que as crônicas
“falam” sobre a forma de um grupo de letrados, num con-
texto temporal e sociocultural determinado, perceberem
as transformações no e do espaço urbano.
Desta forma, tanto as crônicas quanto a produção
historiográfica são lugares de memória. A crônica é tanto
um lugar simbólico de representação dos sujeitos, espaços
e tempos da experiência urbana no passado quanto mate-
rial, como suporte físico e meio de difusão de uma deter-
minada matriz explicativa sobre o passado coletivo.
Mediante um trabalho de seleção, organização e
interpretação da memória coletiva, um letrado (jornalis-
ta, escritor, historiador) produz uma explicação sobre a
trajetória de uma sociedade no tempo, no presente sobre
o passado e em função do presente onde o intérprete está
situado (Nora, 1992, p. 20).2
As crônicas não são um simples eco da “memória
coletiva”, mas uma seleção, com cortes, silêncios e ênfa-
84 ses sobre certos sujeitos, lugares e tempos da experiência
coletiva que produzem uma imagem do passado, uma
1
Sigo aqui a proposta de Souza (1992, p. 75-76).
2
Nesta introdução Pierre Nora retoma e amplia o conceito de “lugar de memó-
ria”, que a princípio se referia apenas aos lugares físicos onde se materializava a
memória nacional francesa (monumentos, mausoléus, museus), para englobar
lugares simbólicos como a História da França de Lavisse ou os Quadros de Geo-
grafia da França de Vidal de la Blanche.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 84 24/1/2005, 11:38
explicação sobre a passagem do tempo, as transformações
sociais, culturais, econômicas e da paisagem urbana. Uma
memória social que está ligada ao lugar social, cultural e
temporal de quem fala (escreve) e para quem se fala (se
escreve). A proposta é compreender a crônica como gê-
nero de fronteira, uma forma de escrita de fronteira, lugar
privilegiado para os olhares cruzados da história e da lite-
ratura, nos domínios de uma nova história cultural.
É nessa margem que se pretende compreender as crô-
nicas de Aquiles Porto Alegre sobre a cidade. Estas crôni-
cas se situam entre duas tradições de escrita sobre a cidade
de Porto Alegre: uma tradição literária e uma tradição
historiográfica. Pois Aquiles foi tanto um dos precursores
da crônica moderna na literatura sul-rio-grandense quanto
um dos sócios fundadores do Instituto Histórico e Geográ-
fico do Rio Grande do Sul e escreveu obras de história.
Na história da crônica no Rio Grande do Sul,
Aquiles Porto Alegre (1848-1926) aparece como um dos
renovadores desse gênero.3 Destacou-se como jornalista e
escritor cuja produção literária começou na Revista Men-
sal do Partenon Literário. Aquiles Porto Alegre é conside-
rado um parnasiano pelos críticos literários, embora sua
obra não tenha se libertado totalmente das influências do
romantismo. As suas crônicas tratam de temas ligados ao
dia-a-dia da cidade de Porto Alegre e de seus habitantes,
dirigindo-se ao leitor e empregando uma linguagem entre
coloquial e literária (Martins, 1978, p. 75-76).4 Aquiles
transita entre memorialismo e crônica de costumes, regis-
trando informações e lembranças de um passado de onde
emergem paisagens, ambientes, costumes e tradições de
85
3
O próprio Aquiles escreveu sobre a crônica (cf. Porto Alegre, 1925, p. 158-
160).
4
O próprio Aquiles Porto Alegre define-se, na crônica “Finis”, que encerra a
obra Noutros tempos, como: “velho poeta parnasiano, tendo mostrado nos meus
livros de verso a preocupação com a forma, eu entendo contudo, e tenho
proclamado, que o assunto é que faz o estilo. [...] Os temas das minhas reminis-
cências estão quase todos ligados a tipos e aspectos. Expondo-os na tela com a
melhor porção de cor própria e naturalidade que me é possível. Num mesmo
assunto, faço poesia ou prosa chã, conforme o momento requer” (Porto Alegre,
1922, p. 191-192).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 85 24/1/2005, 11:38
sua cidade. A sua escrita vale-se de recursos metafóricos e
imagéticos, embora, em certos momentos, busque foros
de veracidade através da citação de obras de historiado-
res e de documentos (Martins, 1978, p. 83-86).
Essa ambigüidade entre literatura e história nas suas
crônicas apresenta-se tanto na matéria narrada, oscilando
entre o relato histórico, a opinião política e o comentário
pitoresco, quanto na forma da crítica compreendê-la e
enquadrá-la ora no campo da literatura, ora no campo da
história. O historiador da literatura Guilhermino César,
tratando dos primeiros cronistas sul-rio-grandenses, os
definia como os primeiros historiadores da Província.
Entretanto, eu destacaria que tanto a prática profis-
sional quanto a produção escrita de Aquiles Porto Alegre
colocam-se num ponto de intersecção da literatura com a
história. Pois, apesar de Aquiles ter tematizado o cotidia-
no da cidade e pretendido, às vezes, escrever a história da
cidade, ele fez isso valendo-se de procedimentos literári-
os, embora, em certos momentos, a sua preocupação com
a veracidade dos fatos e as referências a outros autores
aproximem-no do campo histórico.
A própria trajetória de Aquiles Porto Alegre ex-
pressa uma atuação intelectual tanto no campo literário
quanto no histórico. Nascido em Rio Grande, em 1848,
transferiu-se para Porto Alegre, onde estudou no Colégio
Gomes e na Escola Militar. Foi funcionário público, jor-
nalista, poeta e cronista. Fundou com seus irmãos
Apolinário e Apeles a Sociedade Partenon Literário, da
qual foi eleito presidente em 1879. Fundou e dirigiu o
Jornal do Comércio (1884-1888) e A Notícia (1896), que
86 revelou vários jornalistas. Foi membro da Academia Rio-
Grandense de Letras, fundada em 1901. E foi, também,
em 1920, sócio fundador do Instituto Histórico e Geo-
gráfico do Rio Grande do Sul.5
5
Para conhecer a biografia de Aquiles Porto Alegre, ver Martins (1978, p. 453)
e Neves (1987, p. 71). Seu interesse pelo passado da cidade de Porto Alegre,
como cronista e historiador, testemunha ocular das mudanças da paisagem
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 86 24/1/2005, 11:38
Aquiles Porto Alegre, como outros intelectuais do
período, atuou em várias áreas, tanto no funcionalismo
público (capitão reformado, telegrafista, funcionário do
Tesouro, inspetor escolar) quanto como professor (Insti-
tuto Brasileiro, Escola Normal, Júlio de Castilhos) e jor-
nalista (Jornal do Comércio e A Notícia). Tendo alcançado
o reconhecimento pelo seu trabalho intelectual e político
– na causa abolicionista e republicana –, ocupou lugar de
importância nos dois principais círculos de letrados da
capital do Estado: a Academia Rio-Grandense de Letras e
o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul.
Escreveu e publicou poesias, contos, romances, crô-
nicas e, também, livros de história, que foram publicados
na maturidade de Aquiles: Homens ilustres do Rio Grande
do Sul (1916) e Vultos e fatos do Rio Grande do Sul (1919)
(Laytano, 1979, p. 101).6 Em 1920, publica a obra Atra-
vés do passado (Crônica e história), que, como o próprio
título revela, situava-se entre a crônica e a história. Em
1922, publicou Noutros tempos (Crônicas), que também
revela o mesmo caráter entre crônica, memória e história.
Na apresentação de seu livro Através do passado
(1920), definiu-o como “trabalho de história, de reminis-
cência e, não raro, de evocação” (Porto Alegre, 1920a, p.
4). Obra situada, portanto, entre a história e a memória,
trabalhada de forma literária com subjetividade e lirismo.
Neste livro ele citava outros cronistas e estudiosos da his-
tória da cidade, numa espécie de crítica historiográfica.
Mas Aquiles trabalhava, sobretudo, a partir da matéria
do dia-a-dia, de seus passeios pela cidade, das suas con-
versas com as pessoas que encontrava na rua e da matéria
de suas lembranças. Afinal, tendo atravessado o fim do 87
século XIX e o início do século XX, acompanhou as trans-
social, cultural e urbana, foi retomado e continuado por seu filho Augusto
Porto Alegre, que também foi funcionário dos Correios e Telégrafos, jornalista
e historiador.
6
Segundo Laytano, Aquiles Porto Alegre destacou-se como “um poeta ótimo,
prosador elegante e escorreito, jornalista de bom gosto e historiador que fez da
crônica e da biografia seus temas principais”.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 87 24/1/2005, 11:38
formações dos espaços e das formas urbanas de sociabili-
dade pública.
As coisas simples do cotidiano eram a matéria de
suas crônicas e inspiravam, freqüentemente, evocações de
um “outro” tempo no passado e a sua comparação com o
presente. Jogo de temporalidades que se complica com a
seleção, organização e publicação de suas crônicas como
História popular de Porto Alegre (1940) por Deusino Varela,
no contexto das comemorações do bicentenário da colo-
nização de Porto Alegre (Porto Alegre, 1940b, cf.
Monteiro, 2001). Uma dinâmica entre passado e presen-
te que se prolonga até o momento atual, por meio da mi-
nha releitura destas diferentes temporalidades da experi-
ência urbana e da memória coletiva nas suas crônicas, si-
tuadas no entrecruzamento da historiografia e da literatu-
ra sobre Porto Alegre.
Passo, então, a problematizar as suas crônicas para
compreender a leitura e reescritura da memória coletiva
por Aquiles Porto Alegre, a partir da publicação da cole-
tânea de suas crônicas sobre a cidade naquele contexto
comemorativo do bicentenário de colonização de Porto
Alegre em 1940.
Parto da constatação de que a seleção feita por
Deusino Varela, funcionário da Prefeitura Municipal de
Porto Alegre e leitor ideal de Aquiles, para a publicação
da História popular de Porto Alegre tomou como base os
livros: Através do passado (crônicas e história), Noutros tem-
pos (Crônicas), Flores entre ruínas (1920), Jardim de sauda-
des (1921) e Paisagens mortas (1922) (Porto Alegre, 1920b,
1921, 1922). 7 Os próprios títulos dessas obras evidenci-
88 am que o tempo, sobretudo o passado, é sua temática prin-
cipal. Já o título Paisagens mortas dá a entender que o es-
paço era uma das formas em que se experienciavam as
transformações ocorridas com o passar do tempo.
7
Consegui identificar 63 das 125 crônicas de Aquiles Porto Alegre reunidas na
História popular de Porto Alegre (1940) nas obras originais de onde elas foram
retiradas.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 88 24/1/2005, 11:38
Não só a passagem do tempo e a transformação dos
espaços urbanos foram temas abordados na escrita de
Aquiles Porto Alegre sobre a cidade, mas, também, os
tipos populares e sujeitos destacados da sociedade porto-
alegrense, que se transformam em personagens que per-
mitem a evocação de um “outro” tempo e de uma “outra”
cidade. Das crônicas de Aquiles selecionadas por Varela,
cerca de ¼ delas (ou seja, 40 das 125) descrevem tipos
populares, professores e intelectuais do passado, além de
outras personagens evocados nas descrições dos espaços e
formas de sociabilidade do passado. Por essa razão, suas
crônicas – que têm a memória como ponto de interseção
entre história e literatura – tornam-se ricas para pensar a
releitura e reescritura da memória coletiva, em paralelo e
em contraponto à produção historiográfica sobre Porto
Alegre.
O trabalho de Varela atualizou e recolocou as crô-
nicas de Aquiles no contexto das comemorações de 1940,
dando um novo significado ao texto na escolha dos te-
mas, nos recortes, na nova organização dos assuntos pro-
duzidos em diferentes anos, obras e objetivos, inserindo
notas, listas, ilustrações e publicando aquela coletânea de
crônicas num contexto comemorativo.
Em síntese, o organizador tomou as “falas” de
Aquiles Porto Alegre e as recolocou (selecionadas e mo-
dernizadas) naquele contexto de comemoração, para pre-
servar a memória de uma cidade que se transformara por
meio das reformas urbanas, e se transformara a ponto de
causar a perda da memória desse trajeto da sociedade
porto-alegrense no tempo e colocar problemas de identi-
dade para os seus habitantes. 89
O trabalho de seleção e atualização de Varela colo-
cou as crônicas de Aquiles numa perspectiva do “pitores-
co”, ao dar o título de “História popular” de Porto Alegre
à coletânea. De fato, o que o leitor encontra é, principal-
mente, o lado “pitoresco” da pequena e pacata cidade
que estava se transformando, na passagem do século XIX
para o XX, numa “outra” cidade. Entretanto, apesar da
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 89 24/1/2005, 11:38
seleção, dos cortes e do novo contexto de publicação
das crônicas de Aquiles, elas transbordaram os quadros
fixos daquela comemoração, dizendo “algo a mais” que
a matriz explicativa da história da cidade elabora nos
círculos letrados especializados do Instituto Histórico,
do Arquivo Municipal e do Serviço de Arquivo Históri-
co do Estado.
Aquiles define o seu trabalho entre a história e a
crônica (literatura), o que pode ser observado nos proce-
dimentos de escrita que utiliza. Ora a citação, a referência
e a data precisa, ora a evocação lírica de um passado fra-
gilmente datado, com ênfase na subjetividade do autor.
Porém, como afirma Aquiles, as águas que banham as
margens da história e da literatura são as da memória. A
riqueza de seu trabalho está justamente em evocar lugares
(paisagens, ruas, praças, cafés, lojas, prédios), pessoas (in-
telectuais, autoridades e tipos populares) e experiências
urbanas (festas religiosas, carnaval, cavalhadas, touradas,
teatro) da “velha” Porto Alegre e compará-las ao momento
presente de escrita das crônicas.
Aquiles atualiza e reelabora a memória coletiva, por
meio de suas crônicas, ao estabelecer laços de identidade
entre a experiência urbana do passado e a do presente
(localizando e comparando lugares e práticas) que gerem
a passagem do tempo, permitindo a compreensão das trans-
formações da paisagem urbana e das sociabilidades públi-
cas. Assegurando, desta forma, a compreensão de uma
continuidade na experiência pública e de identidade en-
tre o passado e o presente da sociedade porto-alegrense,
em meio às mudanças sociais, políticas, culturais e refor-
90 mas urbanas. Nutrindo-se de uma tradição de cronistas
locais, a sua escrita entre a literatura e a história – ponte
realizada pelos trabalhos da memória x esquecimento –
foi utilizada, em 1940, pelos intelectuais, pelas institui-
ções e pela administração municipal para estabelecer la-
ços de identidade entre um presente em acelerada trans-
formação e um passado cada vez mais distante da experi-
ência urbana coletiva cotidiana.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 90 24/1/2005, 11:38
As apreciações, redigidas por literatos e historiado-
res e publicadas na última página do livro, após o índice
de temas, serviram para enquadrar a obra de Aquiles na-
quele esforço histórico de rememoração do passado da
sociedade porto-alegrense. As pessoas escolhidas e a cita-
ção das instituições a que elas pertenciam legitimavam e
preparavam a recepção da obra pelo público leitor.
Aquiles descreveu o espaço urbano arrolando as
principais ruas, becos e praças da cidade com seus antigos
nomes. Este arrolamento, que lança mão de outros auto-
res, servia como uma espécie de quadro geral retomado
em outras crônicas, onde descrevia mais detalhadamente
os principais espaços urbanos relacionados à memória e à
identidade coletiva da sociedade porto-alegrense.
Em “Aspectos e costumes”, subtítulo escolhido por
Deusino, Aquiles passa da descrição dos espaços urbanos
à questão das mudanças provocadas pela passagem do
tempo na experiência coletiva nestes espaços urbanos. E
se pergunta: “Que eram estas ruas há pouco mais de trinta
anos?” (Porto Alegre , 1940a, p. 17).8 A pergunta intro-
duz uma meditação sobre a passagem do tempo, em que o
presente encara o passado e volta ao presente numa atua-
lização da memória sobre o trajeto do espaço e das socia-
bilidades urbanas.
Aquiles descrevia toda uma cultura e experiência
urbana caracterizada pela precariedade dos serviços urba-
nos, reduzido desenvolvimento tecnológico, simplicida-
de das edificações, inexistência de vida pública noturna,
limitações nos transportes e relações sociais extremamen-
te hierárquicas do regime monárquico e escravista. O au-
tor provocava, então, um deslocamento de perspectiva, 91
convidando o leitor a retornar ao presente da narração,
para avaliar a distância entre os dois tempos e experiênci-
as sociais urbanas:
8
Na “nota do organizador”, Varela esclarecia aos leitores que “o presente capítu-
lo foi escrito em 1919”. Logo, a realidade descrita por Aquiles referia-se à
década de 1870.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 91 24/1/2005, 11:38
Se, de memória, regressamos a esses tempos, vemos quanto foi
rápido e espantoso o progresso da cidade. Hoje, ela ostenta-se
garbosa, com a sua edificação moderna, pomposos palacetes,
ruas calçadas e paralelepípedos (trabalho já em início),
“cabarets”, cinemas e mais “fitas coloridas” de modernismo e
civilização. Onde antigamente eram velhos e imundos
pardieiros, se erguem agora edifícios de requintada estética
(Porto Alegre , 1940a, p. 18).
Essa citação dá a idéia da distância temporal e o
contraste entre a experiência urbana da pequena cidade,
por volta de 1860-70, e a Porto Alegre de 1920 a partir
da qual Aquiles escrevia e recordava o passado. Aquiles
referia-se ao cinema, às “fitas coloridas” e aos cabarés como
exemplo das novas formas de sociabilidades públicas
(diurnas e noturnas), em contraste com o “toque de reco-
lher” da “velha” cidade, bem como às ruas calçadas e
modernos edifícios em comparação com as velhas casas
acaçapadas de beiras e os “imundos pardieiros”.
É dessa distância temporal e das diferentes experi-
ências urbanas, marcadas por profundas mudanças na pai-
sagem e nas formas de sociabilidade, que falam grande
parte das crônicas de Aquiles. Em 1940, momento da
publicação da História popular organizada por Varela, o
leitor dessas crônicas notaria um contraste ainda maior
frente às obras de reurbanização da administração Lourei-
ro da Silva. O organizador selecionou, justamente, aque-
las crônicas que evidenciavam essa distância e o “progres-
so” urbano alcançado nas administrações republicanas.
Porém, a avaliação do autor sobre essas mudanças
era contraditória e testemunha a experiência paradoxal
92 da aceleração do tempo histórico. Aquiles observava que
Porto Alegre não tinha envelhecido, mas transformara-
se, percebendo ritmos diferentes nesse processo de trans-
formação da cidade, mais acelerado no centro que nos
bairros, e até mesmo lugares de “resistência” a essas “trans-
formações” no próprio centro, como na rua Vigário José
Ignácio. A observação sobre este “lugar” de sobrevivên-
cia do passado serve precisamente para evidenciar a pro-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 92 24/1/2005, 11:38
fundidade e a extensão desse processo de transformação,
que não deixou a cidade envelhecer. Segundo Aquiles, a
demolição, a urbanização das ruas, o saneamento e
ajardinamento das praças – até com monumentos – reno-
varam o cenário urbano e embelezaram a cidade.
Porém, segundo ele próprio, “destruíram muitas
coisas do passado, ligadas à história local” (Porto Alegre ,
1940a, p. 19). Logo, essa transformação foi experienciada
e representada na escrita de Aquiles – um representante
da elite intelectual e das camadas médias urbanas – de
maneira conflituosa: como modernização e perda. Pois, se
por um lado a cidade se embelezava com a construção de
novos prédios, a pavimentação de ruas e os ajardinamentos
de praças, se higienizava com a destruição de “pardieiros
imundos” e com o saneamento, que eliminava “imundas
calhas de águas servidas”, por outro lado perdia “muitas
coisas do passado” (Porto Alegre , 1940a, p. 19). As trans-
formações foram experienciadas como a perda de parte
da própria história da cidade e, portanto, da memória e
da identidade urbana.
As crônicas de Aquiles Porto Alegre, escritas entre
1915 e 1925 e selecionadas por Deusino Varela em 1940,
elaboravam a memória de uma “outra” cidade: a velha
Porto Alegre. Nessas crônicas era lembrada a pequena e
pacata cidade do século XIX, com aspectos interioranos,
que podia ser percorrida a pé, onde os habitantes se co-
nheciam e os nomes das ruas eram dados pelos seus mora-
dores. Entre a história e a literatura, estas crônicas tinham
um tom nostálgico e buscavam perpetuar a memória de
uma cidade menor, social e culturalmente menos com-
plexa diante de um presente instável e em rápido proces- 93
so de mudança.
Aquiles manifestou, por meio de sua escrita, uma
crítica acerca da destruição e transformação dos espaços
urbanos relacionados à memória das experiências urba-
nas do passado. Uma crítica que por vezes idealizava o
passado com base numa experiência de perda e
descontinuidade do presente em relação às práticas urba-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 93 24/1/2005, 11:38
nas do passado, da “velha” cidade de Porto Alegre.
A História popular de Porto Alegre de Aquiles oscila
entre a crítica freqüente e elogios pontuais acerca da trans-
formação dos espaços e formas de sociabilidades urbanas
que estavam ocorrendo entre 1910 e 1920. No mesmo
sentido, suas crônicas privilegiam a perspectiva das práti-
cas cotidianas no espaço urbano, embora algumas delas
se refiram aos quadros de uma história política tradicional
movida pelos grandes homens políticos e pelas elites le-
tradas. Isso se explica pela sua experiência e pelo quadro
social de suas memórias, já que Aquiles era um represen-
tante das elites letradas (jornalista, dono de jornal, escri-
tor, professor e funcionário público) que mantinha rela-
ções estreitas com as elites políticas e econômicas locais.
Por esse motivo, nota-se uma ênfase sobre os sujeitos e
formas de sociabilidade das camadas médias urbanas e eli-
tes letradas na elaboração e na escrita das memórias de
suas experiências urbanas.
No entanto, ele criou um lugar de memória para
outros sujeitos urbanos além das elites dirigentes e letra-
das, como os tipos populares, os negros, as mulheres, os
imigrantes, artistas e músicos de rua, entre outros. Da
mesma forma, relembrava espaços da experiência cotidi-
ana da sociedade porto-alegrense – ruas, becos, largos,
praças –, festas populares e procissões religiosas que mo-
bilizavam a cidade, bem como o processo de crescimento
e expansão da cidade rumo aos arrabaldes. Em relação ao
tempo, as crônicas desse autor privilegiam a segunda me-
tade do século XIX em relação às mudanças que estavam
acontecendo no momento em que as escrevia entre 1915
94 e 1925.
Os movimentos de escrita das crônicas, em seu vai-
vém entre presente e passado e vice-versa, promoviam a
atualização da memória coletiva a cerca das transforma-
ções da fisionomia e do nome dos espaços urbanos. A es-
crita de Aquiles trabalhava em sua trama com mais fios,
sua urdidura era mais complexa e variada do que a da
escrita historiográfica. Esta elaborava a passagem do tem-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 94 24/1/2005, 11:38
po através de uma concepção evolutiva, linear e mecâni-
ca do tempo, partindo das “origens” da povoação para
encontrar, por meio da sucessão de momentos político-
administrativos, sua plena realização na administração de
Loureiro da Silva.
A elaboração da memória coletiva nas crônicas de
Aquiles representava o passado da sociedade porto-
alegrense, suas culturas e identidades urbanas, de forma
mais complexa e plural, tanto em relação à variedade dos
sujeitos lembrados (índios, negros, mulheres, tipos popu-
lares, imigrantes) quanto em relação aos espaços e aos
tempos da experiência social (ruas, praças, festas, procis-
sões). O autor realizava tal elaboração da memória, em-
bora não deixasse de privilegiar a ação das elites dirigen-
tes (políticos e intendentes) e letradas (jornalistas, escri-
tores e professores) na construção do espaço urbano e na
cultura urbana. Isso evidencia o filtro social de um mem-
bro da elite letrada, pertencente às camadas médias urba-
nas, que mediava a sua percepção e elaboração das expe-
riências urbanas no passado. Filtro que foi ampliado pela
seleção e organização de suas crônicas por Varela, funcio-
nário da prefeitura, no contexto das comemorações do
bicentenário da cidade no “Estado Novo”.
Referências
LAYTANO, D. 1979. Manual de fontes bibliográficas para o estudo da história geral
do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, IFCH/UFRGS, 293 p.
MARTINS, A. 1978. Escritores do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, UFRGS/ 95
SEC, 636 p.
MONTEIRO, C. 2001. Porto Alegre e suas escritas. Histórias e memórias (1940
e 1972). São Paulo, SP. Tese de Doutorado em História Social. Programa de
Estudos Pós-Graduados em História, Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, 459 p.
NEVES, D.V. 1987. Vultos do Rio Grande. Rio Grande, Academia Rio-Grandina
de Letras. vol. 2.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 95 24/1/2005, 11:38
NORA, P. 1992. Comment écrirer l’histoire de la France? In: NORA, P. (dir.).
Les lieux de mémoire. III Les Frances. 1. Conflit et partages. Paris, Gallimard.
NORA, P. 1984. Entre mémoire et histoire. La problematique des lieux. In:
NORA, P. (dir.). Les lieux de mémoire. I La République. Paris, Gallimard, t. I, p.
XVII-XLII.
PORTO ALEGRE, A. 1925. A beira do caminho. Porto Alegre, Globo, 186 p.
PORTO ALEGRE, A. 1920a. Através do passado (Crônica e história). Porto
Alegre, Globo, 200 p.
PORTO ALEGRE, A. 1920b. Flores entre ruínas. Porto Alegre, Wiedemann &
Cia., 198 p.
PORTO ALEGRE, A. 1921 Jardim de saudades. Porto Alegre, Wiedemann &
Cia., 199 p.
PORTO ALEGRE, A. 1922. Noutros tempos. Porto Alegre, Globo, 196
p.PORTO ALEGRE, A. 1922. Paisagens mortas. Porto Alegre, Globo, 192 p.
PORTO ALEGRE, A.1940a. História de Porto Alegre. Porto Alegre, Prefeitura
Municipal.
PORTO ALEGRE, A. 1940b. História popular de Porto Alegre. Porto Alegre,
Prefeitura Municipal, 222 p.
SOUZA, M.N. 1992. Uma escrita do tempo: memória, ordem e progresso nas
crônicas cariocas. In: CANDIDO, A. et al. (orgs.). A crônica. O gênero, sua
fixação e suas transformações no Brasil. Campinas, UNICAMP.
SOUZA, M.N. 1995. História da crônica. A crônica da história. In: RESENDE,
B. (org.). Cronistas do Rio. Rio de Janeiro, José Olympio.
96
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 96 24/1/2005, 11:38
Pequenas notas sobre a escrita
do ensaio
Antônio Marcos Vieira Sanseverino*
[...] aplicamos-lhes [aos atos de outros homens] as escalas que a
nossa própria vida e nossa própria experiência interna nos ofere-
cem, de tal forma que nosso conhecimento dos homens ou da
história depende da profundidade de nosso conhecimento de nós
mesmos e da amplidão do nosso horizonte moral (Auerbach,
1987, p. 265).
1 – De um ponto de partida distante da matéria
desta palestra (o ensaio)
A narrativa pode ser conceituada de três modos
distintos. Em primeiro lugar, temos a matéria narrada, os
fatos, os acontecimentos. Nessa primeira definição a nar-
rativa trata da referência, daquilo que está para além da
palavra, seja um fato real ou imaginário. Ao organizar es-
ses acontecimentos, selecionando os principais, colocan- 97
do-os em uma determinada ordem, já estamos filtrando
de tudo que poderia ser narrado apenas aquilo que nos
interessa contar.
Quem faz essa seleção? O narrador. Estamos entran-
*
Prof. de Literatura Brasileira do UniRiter, doutor em Teoria da Literatura (PUCRS)
HISTÓRIA
HISTÓRIAUNISINOS
UNISINOS Vol.
Vol.88 Nº
Nº10
10 JUL/DEZ
JUL/DEZ p. 2004
97-106
Historia10.p65 97 24/1/2005, 11:38
do no segundo conceito de narrativa, aquele que dá con-
ta do ato de narrar, da narração. É o momento da constru-
ção do texto. O narrador é o mediador que se coloca en-
tre o acontecimento real e imaginado e a palavra que o
representa. Nesse intermédio, está o narrador, com todas
as opções por ele feitas.
Ao colocar essa segunda posição, já estamos dando
o terceiro conceito de narrativa, o discurso que resulta da
narração. Na oralidade (como no momento em que este
texto foi escrito), é difícil realizar a separação da pessoa
do narrador do discurso que faz, pois ele se dá em presen-
ça de ouvintes, acompanhado dos gestos, do tom de voz,
das pausas, da interação com os ouvintes. A narrativa
ganha, nesse caso, a mão que “intervém decisivamente,
com seus gestos, aprendidos na experiência do trabalho,
que sustentam de cem maneiras o que é dito” (Benjamin,
1985, p. 121). Na escrita, conseguimos apreender o dis-
curso em separado do gesto do narrador, e por sua leitura
podemos apenas apreender os indícios, as marcas deixa-
das no texto.
Você pode estar se perguntando, se você me acom-
panhou até aqui, o que isto tem a ver com o ensaio. Que-
ro guardar os três conceitos de narrativa, para vinculá-los
à escrita do ensaio: narrativa, acontecimento referido pela
palavra; narrativa, ato de narrar do narrador; narrativa,
discurso que resulta desse gesto.
2 – De um esboço da natureza do ensaio em
relação à narrativa
98
Para esboçar alguns traços do ensaio, parto do que
acabo de colocar. O ensaio não se apresenta como discur-
so oral, mas como um texto, produção escrita que tenta
preservar a mobilidade e o movimento próprios da
oralidade. Ao ler alguns ensaios de Montaigne, quase ve-
mos o gesto do ensaísta, em sua biblioteca, quando colo-
ca que, ao pintar seu próprio retrato, ele fez seu livro e foi
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 98 24/1/2005, 11:38
feito por ele. 1 Contrariando o discurso da ciência, o
ensaísta traz para primeiro plano suas escolhas pessoais
(mesmo que não use a primeira pessoa), de tal modo que
encontramos uma série de características recorrentes ao
longo de vários ensaios de um mesmo autor que nos per-
mite caracterizar seu estilo. A presença da oralidade na
escrita nos indica a tentativa de resgatar a vitalidade do
discurso oral, de transpor para a escrita uma individuali-
dade idiossincrática e de captar (construir) uma experi-
ência que lhe escapa. Talvez esteja aí uma explicação pos-
sível para a enorme variedade de ensaios existentes, em
que cada ensaísta transpõe para sua escrita suas escolhas
pessoais, deixando as marcas que o individualizam.
Não podemos deixar de afirmar a característica es-
crita do ensaio, que surge da reflexão solitária, de alguém
que olha atentamente para seu objeto por diversos ângu-
los. Isso nos faz indicar outro traço fundamental do en-
saio, seu caráter de mediação. Ao contrário de se anular
como sujeito, o ensaísta se interpõe entre a palavra e o
objeto representado. Seu conhecimento surge de suas es-
colhas e de seus interesses, às vezes arbitrários, às vezes
casuais, mas sempre de modo parcial, limitado, subjetivo
e frágil – sem que essas sejam características negativas.
No ensaio, há uma posição contrária à busca da palavra
exata e adequada para representar a realidade, porque não
há possibilidade de alcançá-la. Contra a homogeneidade
do discursivo, que esconde a presença do sujeito que o
construiu, o ensaísta vem para primeiro plano, criando
uma variação da distância entre sujeito (narrador/ensaísta)
e objeto (referente), mostrando a impossibilidade de uma
representação neutra. 99
Antes de considerarmos a vaidade de Montaigne,
que se torna como objeto de seu próprio discurso, deve-
mos considerar a presença da ironia em seu discurso. Mais
1
Ibid.; Pinto, 1998 (cf. Montaigne, 1980, p. 305)
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 99 24/1/2005, 11:38
do que uma figura retórica, a atitude irônica, configurada
no discurso, traz o distanciamento entre o eu e o mundo,
de tal modo que o indivíduo desfaz as determinações que
o delimitam. Montaigne é um cidadão que está desco-
brindo, na solitária reflexão, novas dimensões de si mes-
mo, mantendo o olhar corrosivo e irônico, que não per-
mite uma afirmação de si mesmo, vaidosa. Não há certe-
za, há questionamento, em um movimento constante em
que o eu está em permanente metamorfose (cf. Auerbach,
1987, p. 265). Esse movimento do pensamento, essa cons-
tante transformação de si como matéria a ser discutida, a
descoberta de novas esferas da subjetividade e a ironia
colocam, desde o seu princípio, o ensaio como negação.
Para o olhar irônico, “tudo se torna nada, mas o nada pode
ser tomado de diversas maneiras; [...]; o nada irônico, fi-
nalmente, é a quietude da morte, na qual a ironia reapa-
rece como fantasma (tome-se última expressão com toda
a sua ambigüidade)” (Kierkgaard, 1991). O sujeito irôni-
co vê o velho mundo em decomposição, em toda a sua
putrefação, pois apartou-se das fileiras de seu próprio tem-
po e tomou partido contra esse. Aquilo que deve vir é
oculto... contra ela volta seu olhar devorador. A ironia é a
negatividade infinita absoluta: apenas nega, sem negar um
fenômeno específico, sem estabelecer nada, mas supondo
uma força maior do que a finitude repudiada.
Em O ensaio como forma, Adorno (2003) acentua o
caráter negativo do ensaio, que se coloca contra a ciência
esmagadora, em defesa do fragmentário, do heterogêneo,
do mutável e do transitório. Em sua escrita descontínua,
o ensaísta se volta contra o imediato, para estabelecer
100 mediações estabelecidas e obscurecidas que estão para além
do ideológico. Assim como a lírica contemporânea capta
o que a totalidade ainda não absorveu, o ensaio expressa
o não-idêntico, aquilo que escapa ao padrão linear e
totalizador do pensamento de origem cartesiana. Com
virtude, no ensaio há abandono à coisa mesma como des-
coberta, preferindo sempre o parcial, o particular, aquilo
que escapa ao pensamento sistemático, seja de origem
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 100 24/1/2005, 11:38
empirista, seja racionalista.
O caráter de novidade do ensaio está na sua forma.
Ele não cria nada de novo, mas sempre revê o já existen-
te, procurando um novo modo de abordá-lo. O método
de abordagem é a negação sistemática de todo método,
colocando os conceitos sem os definir. Como em um mo-
saico, uns definem os outros por relação. Seu maior rigor
está, então, na composição, não para persuadir seu
interlocutor (como na retórica), mas para mostrar o ca-
minho da descoberta enquanto acontece e os momentos
de beleza que são instantes construídos de felicidade. A
luta de Adorno está em desfazer o caráter natural e neces-
sário com que a ideologia se apresenta (imediato-
mediatizado); ou de outro modo, indicar como as pessoas
pensam, sendo pensadas pela ideologia, e ainda assim
consideram estar pensando. A questão nuclear está na
necessidade do ensaio de se mostrar como mediação.
Adorno nega a radical afirmação idealista de que a or-
dem das idéias seria a mesma da ordem das coisas. Põe
como inaceitável a afirmação empirista de que o fenô-
meno sempre novo e inalcançável vai além do conceito.
Ambos erigem-se dogmaticamente como métodos úni-
cos de acesso à verdade. Em ambos os casos, a reificação
do pensamento se faz presente, pois no idealismo fica-se
na contemplação vazia dos objetos, e no empirismo,
método científico experimental, o sujeito fica comple-
tamente alienado do objeto.
Adorno, em contraposição, propõe a mediação
dialética entre ambas as esferas (das coisas e das idéias)
que transforma o mundo das idéias e forma a própria na-
tureza dos fenômenos. O pensar filosófico surge do olhar 101
demorado e paciente lançado sobre o objeto (cf. Adorno,
1984, 1995), à procura do conteúdo de verdade, e que
exige sempre voltar ao contato direto com a coisa em si.
Aí está a coragem do pensamento, capaz de resistir ao
previamente pensado, mostrando a experiência, o conta-
to entre o próprio processo de reflexão e a coisa. O cará-
ter de mediação, no ensaio, fica explicitado na forma aber-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 101 24/1/2005, 11:38
ta ao novo e ao heterogêneo e na forma fechada preocu-
pada com o modo de apresentação.
3 – Do que a escolha do ensaio como forma de
escrita e expressão quando não se trata de uma
escolha irrefletida ditada pela moda acadêmica
Escolher o ensaio como forma de expressão já é
uma opção epistemológica. Como coloca várias vezes
Waizbort (2000), o ensaio é uma forma de aventura, de
risco que se corre por se abandonar o já estabelecido e o
sistema articulado, para se estudar novas conexões pos-
síveis para o conhecimento, ao priorizar o fragmento
efêmero. O ensaio, como arte de experimento, centra-se
na mobilidade das relações, a partir de uma escrita
descontínua que levanta diversos aspectos de um objeto
na forma de uma constelação, como está em Simmel,
como está em Benjamin.
A fragilidade do ensaísta não se apresenta como
defeito do sujeito ou falta de posicionamento firme, mas
como tentativa de captar o gesto de descoberta ou um
novo ângulo de se olhar a realidade. O uso recorrente do
talvez nos ensaios de Simmel indica, para Waizbort, o ca-
ráter provisório do ensaio, uma insegurança tateante, que
se entrega à aventura e ao inacabado. Essa insegurança,
essa mutabilidade do sujeito são traços negativos em nos-
sa cultura. Parece-me difícil entregar-se ao ensaísmo, ar-
riscar-se a dizer uma inconveniência, sofrer a pressão de
assumir uma atitude, talvez cometer um exagero ou des-
102 medida, sair fora dos padrões estabelecidos em uma área
de conhecimento. Essa atitude do ensaísmo, a perda do
apoio seguro do conhecimento solidificado ou do senso
comum, permite o movimento do pensamento. Permite a
descoberta de novas zonas do impensado, do que escapa
ao padrão.
O ensaio, apesar dessa dificuldade, virou moda. Por
quê? Não sei uma resposta. Talvez seja porque se torne
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 102 24/1/2005, 11:38
isolada a presença da subjetividade e a ausência de regras
como caracterização do ensaio. Afirmar o ensaio como
moda expressiva traz o risco de esvaziar seu potencial crí-
tico, de negação, para isolar apenas a marca da subjetivi-
dade livre de amarras. Ser pessoal não significa ser ensaísta,
pode-se escrever uma carta, diário, crônica. Ser
antidogmático também é ser ensaísta, pois rebelar-se con-
tra uma estrutura não significa organizar uma nova forma
de pensar. A moda coloca, então, sob nome de ensaio algo
que foge daquilo que fizeram Montaigne, Simmel e Ben-
jamin, para ficar em três autores. Trata-se mais do fetiche,
de aparecer como ensaísta (algo culturalmente très chic),
pois o sujeito abandona-se ao espontaneísmo subjetivo,
tendendo a repetir o lugar comum a ser pensado pela ide-
ologia; pois o sujeito perde o rigor conceitual e precisão
teórica, por serem academicismos; pois o sujeito perde o
cuidado com a forma, com o modo de dizer, com a quali-
dade da frase e das imagens. A reflexão lenta e pondera-
da, o rigor conceitual e a precisão teórica e o cuidado
com a forma, são características próprias do ensaísmo.
Lukács vinculava o ensaio à arte, por sua capacidade de
dar forma a dilemas da experiência humana.
Mesmo antiacadêmico, contra a cristalização do
pensamento em fórmulas simples, o ensaísta mantém o
rigor da forma e do pensamento, da imagem e do concei-
to, pois sabe, desde sua formulação em Montaigne, que o
ensaísta é construído pelo discurso. Pode-se lembrar como
exemplo o ensaio sobre o Narrador, de Walter Benjamin,
que se intitula considerações acerca da obra de Nicolai Lescov,
o que já indica seu caráter aberto e inacabado. O que se
confirma na leitura das 19 partes de seu texto, que não 103
são lineares e seqüenciais. Nesse ensaio, a reflexão instau-
ra-se a partir de um problema cultural, o desaparecimen-
to do narrador e da possibilidade de intercambiar experi-
ências. Para isso, Benjamin articula referências a Lukács
(Teoria do romance), a Paul Valéry, a Heródoto, a
Montaigne, misturando discurso e formas heterogêneas.
Como obra reflexiva, pessoal sem ser em primeira pessoa,
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 103 24/1/2005, 11:38
mantém a precisão conceitual e o rigor da imagem poéti-
ca para apresentar a narração. É quase um pensar alegori-
camente por imagens.
4 – Movimento oscilatório do ensaísmo entre a
identidade e o não idêntico
No ensaio, segundo Pinto, há uma oscilação entre a
demanda filosófica (referencial) e a sua impossibilidade,
uma hesitação entre a busca da identidade e o horizonte
ficcional. A própria definição do ensaio fica entre arte e
filosofia, a forma que busca o efeito estético ou a constru-
ção do concreto.
De todo modo, no tripé já mostrado (acontecimen-
to/narração/discurso), o ensaio enfatiza-se como media-
ção precária e tateante. O texto capta o movimento do
sujeito e traz a primeiro plano a ação mediadora do ensaísta
como alguém que constrói pelo discurso e pela represen-
tação de seu objeto. A relação entre a palavra e o referen-
te deixa de ser imediata. O ensaísta interpõe-se para dizer
que a palavra pode estar projetando uma imagem que não
corresponde ao objeto, por ser ficcional ou por não alcan-
çar a imediatez e não poder representar. Para Montaigne,
a palavra é vã, ou a atitude preferencial é a de Demócrito,
rir, porque o ser humano é fútil e vaidoso, e seu conflito
merece o olhar distanciado e irônico. Para Pascal, o con-
flito é trágico, porque este impasse não tem solução, por
mais que busquemos a palavra exata.
Como se vê, o ensaio como forma define-se por seu
104 caráter necessariamente incluso, fragmentário, subjetivo,
tateante, em outros termos, o ensaio exprime a perspecti-
va (cética ou trágica) de que nos é impossível representar
o todo. Resta-nos o fragmentário. Sem o processo, sem
início ou fim definidores dos limites da experiência, resta-
nos captar o instante, o efêmero em que pode brilhar um
flash do universal. Sem a palavra exata, tateamos pela
imagem capaz de concretizar, alegorizar, exemplificar uma
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 104 24/1/2005, 11:38
identidade fragmentária em processo constante de forma-
ção e impossibilidade de alcançar uma fixidez. Catamos
estilhaços, nossos cacos, nossa constante mutabilidade.
5 – Do necessário retorno ao nosso ponto de
partida, retomando o fio da meada aberto pela
narrativa
Ao voltar ao ponto inicial, a narrativa moderna,
assim como o ensaio, problematiza a distância colocada
entre o sujeito e o objeto, desestabilizando a relação entre
a palavra e o referente, mostrando que sempre há algo
que escapa à palavra e ao sujeito. É na mobilidade do
ensaísta que se arrisca em busca do impensado e do hete-
rogêneo que se criam possibilidades de se encontrar uma
reflexão que escape aos padrões ideológicos.
A opção pelo ensaio talvez signifique o abandono
da crença de que se pode expressar a verdadeira história,
abdica da lei histórica, pois o sujeito percebe seus limites
e a impossibilidade de se alcançar uma verdadeira defini-
ção absoluta. Talvez, por isso, a presença da melancolia
(dor pela perda, dor pela percepção da finitude, dor pela
falta de razão para agir, dor pela imobilidade, dor pela
fragmentação do discurso) e da ironia que corrói o senti-
do pleno do discurso para apontar o vazio sobre o qual a
linguagem paira. Talvez seja pela impossibilidade de se
definir crenças e certezas que a melancolia e a ironia se-
jam traços tão recorrentes na forma do ensaio.
Talvez um dos traços definidores dos gêneros
discursivos da literatura, e especialmente do ensaio, seja a 105
busca de uma identidade, sem a possibilidade de fixá-la.
Os gêneros têm a tendência de incorporar elementos he-
terogêneos e de agregar o não-idêntico a si. Assim, na
modernidade, não poderíamos falar da morte do romance
ou do fim do conto, porque eles seriam gêneros intrinse-
camente mutáveis, polimórficos e abertos à mudança.
Em que isso nos ajuda a entender o ensaio? Como
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 105 24/1/2005, 11:38
um gênero que nasceu moderno, temos o ensaio transi-
tando entre fronteiras: entre arte e filosofia, entre rigor
conceitual e olhar subjetivo e pessoal, entre indefinição
de identidade e busca de um estilo pessoal. A escrita do
ensaio é fruto do sujeito que se interpõe entre palavra e
discurso. Traz os traços indicadores do movimento do su-
jeito que se volta para o discurso e busca a palavra e a
imagem precisas, mas não deixa de dar atenção aos resí-
duos, aos restos e fragmentos abandonados que não ca-
bem em um sistema.
Referências
ADORNO, T. 1984. Dialética negativa. Madrid, Taurus, 407 p.
ADORNO, T. 2003. O ensaio como forma. ADORNO, Theodor. Notas de
Literatura I. São Paulo, Duas Cidades, p. 15-45.
ADORNO, T. 1995. Observações sobre o pensamento filosófico. In: ADOR-
NO, T. (org.). Palavras e sinais. Modelos críticos. 2a ed. Petrópolis, Vozes, 15-25
AUERBACH, E. 1987. L’humaine condition. In: Mimesis. A representação da
realidade na literatura ocidental. 2a ed. São Paulo, Perspectiva. (Estudos, 2), 249-
276 p.
BENJAMIN, W. 1985. Magia e técnica, arte e política. 4a ed. São Paulo, Brasiliense
(Obras escolhidas, 1), 253 p.
KIERKGAARD, S. 1991. O conceito da ironia. Rio de Janeiro, Vozes, 288 p.
MONTAIGNE, M. de. 1980. Ensaios. 2a ed. São Paulo, Abril Cultural. (Os
pensadores), 500 p.
PINTO, M.C. 1998. Albert Camus. Um elogio do ensaio. São Paulo, Ateliê
106
Editorial, 199 p.
WAIZBORT, L. 2000. As aventuras de Simmel. São Paulo, Editora 34, 590 p.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 106 24/1/2005, 11:38
A escrita herege
O fim do texto e do sujeito filosófico
Márcia Tiburi*
Auto-superação do pensamento / auto-superação
do texto / auto-superação do eu
“Uma coisa sou eu, outra são meus escritos.”
(F. Nietzsche, Ecce Homo).
“A forma é conteúdo sedimentado.”
(Th. Adorno, Teoria Estética).
Que a filosofia seja autocrítica, que tenha se torna-
do metateoria, se deve ao medo de si mesma. Medo de
sucumbir aos seus próprios preceitos, de ter que respon-
der aos parâmetros da objetividade, da certeza, da clare-
za, da verdade com a qual vai tecendo sua história como
um manto negro onde morre o fruto que deveria parir, o
conhecimento como o vir a ser, a ação como devir, a pos-
sibilidade de um futuro a inventar. Cansa-me hoje pensar 107
que ainda seja preciso refazer a crítica da filosofia, embora
ela tenho sido histórica e absolutamente necessária. O
*
Professora do curso de Graduação e no Programa de Pós-Graduação em Filoso-
fia da UNISINOS. Mestre em Filosofia pela PUCRS e doutora em Filosofia pela
UFRGS.
HISTÓRIA
HISTÓRIAUNISINOS
UNISINOS Vol.
Vol.88 Nº
Nº10
10 JUL/DEZ
JUL/DEZ p. 2004
107-122
Historia10.p65 107 24/1/2005, 11:38
cansaço aponta a um tempo esgotado, mas também a uma
experiência vivida da qual é preciso introjetar o
ensinamento. A kantiana Crítica da Razão Pura tem sua
data, assim como as posteriores e mesmo novas investidas
críticas da razão das quais devemos sorver a sabedoria
como um constante exercício da memória e revelar seu
sentido presente. É preciso saber que em momento algum
a filosofia poderá abdicar de sua autocrítica se pretende
investir na liberdade do pensamento. Ela deve, entretan-
to, procurar o seu outro. Não se trata de abandonar a
crítica, mas de ir além dela, conservando-a como momento
inexorável para o pensamento que pretende ir além de si
mesmo. Do contrário, o objetivo da autocrítica age con-
tra a filosofia, contra o pensamento e reverte-o em novo
modo de inércia filosófica, nova metafísica que se ocupa
apenas com seus próprios processos sem jamais dar uma
chance ao mundo empírico, ao universo da prática. A
crítica da filosofia precisa permanecer como pressuposto
de uma nova filosofia (existem muitas novas filosofias
existentes e possíveis) e ajudar a realizar o pensamento
como ideal buscado, como desejo que precisa encontrar-
se com a ação.
Pensar e agir estão entrelaçados, mas é preciso mos-
trar a pertinência do enlace, atitude que foi tomada como
uma das tarefas do pensamento que se ocupou com a
autocrítica oferecendo, hoje, a chance de firmá-la para o
presente. Falo dos filósofos modernos, de Kant a Adorno,
passando por Nietzsche e Kierkegaard. E se destaco aqui
o conteúdo com o qual o pensamento se envolve e a filo-
sofia como sistema e lugar do pensamento, é porque o
108 concebo revertendo em forma, fazendo-se corpo com o
mundo, metamorfoseando-se com ele por meio da lingua-
gem. A liberdade do pensamento como liberdade de ex-
pressão falada ou escrita só foi possível porque a crítica da
razão transformou-se, na modernidade tardia, em crítica
da linguagem. Eis o modo mais específico com que os filó-
sofos dos séculos XIX e XX estipularam sua crítica da ra-
zão e da modernidade.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 108 24/1/2005, 11:38
A questão que retorna no palco filosófico tomado
por muitos como domínio do paradigma da linguagem é a
do estilo filosófico, a das relações entre a filosofia e sua
escrita. A multiplicidade do estilo em filosofia justifica a
ampla gama de problemas que o envolvem e que devem
– em último lugar – levar ao fato de que a forma e a fun-
ção dos textos filosóficos – o de que dispomos para avali-
ar a história do pensamento – não se esgotam na análise
do estilo. Do diálogo ao tratado, do sistema ao fragmen-
to, a filosofia tem um ser dizível de muitos modos. O esti-
lo não é uma forma morta, como uma espécie de método
com regras fixas que se devem seguir quando se quer ser
“filósofo”, “escritor”, “artista”, como se para ser algo bas-
tasse “querer ser”. O estilo – e quero aqui usar um concei-
to produtivo – é muito mais o resultado, o processo de-
pois de realizado o produto. Se pode ser lido, precisa, so-
bretudo, ser interpretado, mas pode ainda ser inventado.
O pensar não pode estar a serviço de uma profissão, qual-
quer que seja, mas deve compreender-se, ele mesmo, como
processo e desejo investindo em seu próprio progresso,
levando-se a si mesmo às últimas conseqüências, enquan-
to, por outro lado, deve saber medir-se com a prática,
com a realidade e relacionar-se a ela na oferta da crítica,
da reflexão, da possibilidade, da invenção.
A variedade do estilo em filosofia, as várias formas
com que a filosofia pode ser escrita, declara ainda o cará-
ter de impossibilidade do estilo. É o estilo, todavia, que
vai definir o que é o texto filosófico. Faca de dois gumes,
ele é tanto o que revela a morte da filosofia quanto o que
lhe dá vida. Tanto o que permite engavetar o pensamen-
to, classificando-o, quanto o que decanta das pedras vári- 109
as da sedimentação filosófica e rega o conhecimento. A
filosofia, entretanto, não é apenas texto escrito, e, nesse
sentido, a história da filosofia trabalha sobre a sua impos-
sibilidade: a história da filosofia é a história do que está
nos textos filosóficos, do que se tornou documentável,
mas a filosofia não se reduz ao texto como documento e
encontra alternativa do texto do mundo escrito em lin-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 109 24/1/2005, 11:38
guagem cifrada. A leitura filosófica pode partir de uma
visão semiótica do mundo, em que tudo o que é texto,
mas a leitura dos textos não escritos tem outra qualidade:
é o ser do silêncio. A filosofia é a forma do pensamento
quando procura deixar falar o silêncio e eleva a conceito
à impossibilidade do dizer e do mostrar. A filosofia pode,
então, ao conceber o não dito no dito, o não expresso no
que está à mostra, não ser mais apenas “filosofia” como
matéria isolada e colocar em tensão – e enlace – as diver-
sas áreas do conhecimento, fazendo valer a liberdade do
pensamento para além do “ser filosófico”.
A filosofia não é literatura, pois ela pretende, em
seu ser mais intrínseco, mudar o mundo. A intenção da
literatura não pode ser avaliada. Está presente em seu con-
ceito que a intenção esteja nela oculta e que o produto
que ela é seja, ao mesmo tempo, um modo de ser do mal
em sua forma e em seu conteúdo como experiência res-
guardada na ficção. Se sua intenção se encerra em si mes-
ma, sua práxis tem seu fim em si mesma: está dada a mor-
te da intenção (Benjamin, 1984, p. 51) característica da
arte. A compreender-se o que Bataille (1989, p. 9) pre-
tendia ao caracterizar seu livro A literatura e o mal como
um “tumulto”, temos que o mal na literatura abre cami-
nho para o mal no ensaio. Em outras palavras: o trata-
mento que a teoria sobre a literatura pode dar ao tema do
mal abre as portas: a teoria literária que toca o conteúdo
do mal no ensaio sedimenta o conteúdo do mal em forma
de teoria literária: a novidade é o mal no ensaio. Esse ser
do mal no ensaio é dito sob o nome de “tumulto”: eis, na
medida perfeita, a exatidão da forma ensaística. Em filo-
110 sofia – a teoria sobre o mundo, mas também a teoria so-
bre a teoria que eu inicialmente criticava – , o ensaio é
uma espécie de forma maldita. A idéia do tumulto diz
essa ausência de forma ou o estraçalhar da forma, toda-
via, amparado na forma.
Se a arte é a morte da intenção e a literatura tem
seu fim em si mesma, a filosofia, entretanto, pretende ir
além de si mesma e mudar o mundo: nela a intenção vive.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 110 24/1/2005, 11:38
Todo pensamento está atrelado à ação, ou seja, politica-
mente com o mundo. O tumulto – uma heresia – alicerça-
se na aparência e pretende mais do que a forma quando o
texto é filosófico. Fragmentos armados em constelações
têm relação com isso, mas obedecem à forma básica dada
pelo esforço do conceito. Textos filosóficos querem atin-
gir idéias e laboram sobre conceitos. O ensaio, diferente-
mente da literatura, é sempre filosófico: tece com a trama
do conceito, rompendo e servindo-se de sua cola para
entrelaçar cacos de pensamento, de intuições. A filosofia,
por sua vez, pode tomar emprestada da literatura a quali-
dade de escrita, de ser uma escrita: o espanhol Eugenio
Trías )2002, p. 50) já dizia que todo filósofo é um escritor.
Mas a filosofia não é apenas um ofício desse escritor. Ela é
também diálogo que pode se dar para além da literatura e
para além da escrita. Nesse ponto ela atinge o âmbito da
experiência e filósofos socráticos (aqueles que nunca es-
creveram nada) são permitidos para o bem de qualquer
ágrafa dogmata, de toda teoria não escrita. Assim como a
superação do pensamento só se dará ao atingir-se o pensa-
mento, a superação da escrita apenas pode ocorrer quan-
do se atinge a escrita. A escrita representa o estatuto do
corpo do pensamento, seu lugar, sua magna morada. Mas
a escrita não é a única forma do pensamento. A escrita
investe na eternidade contra as virtudes do efêmero e per-
de sempre uma lasca da vida, ao erigir suas paredes sóli-
das. A dialética da escritura obriga que se pense em sua
verdade, na intensificação da vida que ela produz ao ele-
var à experiência estética o dado cru da sensação e da
percepção – o que deve acontecer na filosofia e na litera-
tura –, e em sua opressão sob a marca do livro como do- 111
cumento. Se a vida é ferida, a escrita é cicatriz . Se a vida
é mais, a escrita não pode ser o simples documento arqui-
vado que compõe, no extremo, a loucura da memória
como forma de ressentimento. A memória está para a his-
tória assim como o sistema para a filosofia: tanto uma como
a outra tendem a ganhar reconhecendo as virtudes do
efêmero, daquilo que não cabe na história (no sistema
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 111 24/1/2005, 11:38
que explica o mundo) e que não pode ser lembrado.
Essa é a verdade contida sob a crítica de Platão à
escrita. O medo de Platão – apresentado na narrativa de
Sócrates do mito da invenção da escrita pelo deus egípcio
Theuth no diálogo Fedro (Platão, 1993, p. 881) – era de
que a escrita viesse a matar o conhecimento. A interpre-
tação mais comum desse texto mensura o ódio, perspecti-
va que escamoteia a marca do conhecimento platônico
que demonstra hoje sua extrema atualidade: mais do que
uma crítica ao universo da mímesis como imitação, emu-
lação, reprodução do falso, a verdade crítica platônica à
escrita se diz na distância da escrita em relação ao univer-
so do diálogo, da produção do conhecimento a partir de
um confronto do dia-légein, do exercício entre opostos,
entre diferenças, entre posições incompletas e, por isso,
dialéticas. Platão trata de um medo bem consistente ao
conhecimento sepulto em livros mortos, aos escritos não
lidos. O medo parece ser mais da não leitura do que da
escrita. Ler, se lembrarmos de Nietzsche, é pouco diante
da necessidade que tem um escrito de ser interpretado
(Nietzsche, 1998, p. 14). Interpretar é dar vida ao lido.
Essa interpretação de Platão aproxima-se da concepção
nietzscheana, embora esteja dela separada por séculos.
Nietzsche avança ao aceitar o escrito, mas ele é insufici-
ente sem a interpretação. O escrito precisa ser lido, assim
como é de se pensar que a experiência humana precisa ser
documentada, escrita. A história é a atividade que nasce
da necessidade de documentar o passado, de garantir a
memória como manutenção do passado. As idéias de
Platão e Nietzsche advertem contra a crença de que o
112 escrito por si só seja suficiente para o conhecimento e a
vida, para a história e para a filosofia.
Que a filosofia não se reduz ao texto, pois guarda
a dimensão prática da ação, é uma questão que precisa
ser considerada diante do fato igualmente relevante da
escrituralidade da filosofia, momento em que ela se
aproxima da literatura. A filosofia de W. Benjamin e a
de Theodor Adorno fazem a defesa do elemento
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 112 24/1/2005, 11:38
lingüístico da filosofia concebida segundo uma com-
preensão do estético na linguagem. A filosofia de Ben-
jamin trabalha a idéia de que a verdade tem um ele-
mento representativo, o ser da verdade é a beleza que
encanta como Eros e provoca a inteligência: o pensa-
mento é a corrida de Eros atrás da beleza, cujo conteú-
do é a verdade (Benjamin, 1984, p. 53). Adorno, por
seu lado, tem um pensamento firmado sobre o estético
como filosofia da mímesis – uma forma de relaciona-
mento à existência que se opõe como expansão da sen-
sibilidade rumo à racionalidade. Adorno toma de Ben-
jamin a idéia de uma “forma configuracional” 1 ou
“constelacional” que trataria cada parte que compõe a
verdade como uma estrela em uma constelação, como
uma pedra em um mosaico, cuja forma só será vista ao
final do processo de conhecimento. Para Benjamin, a
filosofia seria uma nomeação, um ato de instauração
da linguagem como poder do Nome (Benjamin, 1984,
p. 58), mas não um ato de comunicação. Adão seria o
pai da linguagem, e não Sócrates. Adão seria um escri-
tor em seu processo de reflexão implicado na eterna
retomada do objeto da investigação. Refletir é pensar e
pensar novamente como a ruminação de Nietzsche. A
vantagem da escrita sobre a fala estaria em que nela é
possível parar e recomeçar obrigando à reflexão.
Se a verdade da filosofia aparece sob a lei de sua
forma, todavia, é preciso pensar o textual como lugar
onde uma verdade mais que textual se refugia. Texto é
mais que texto. Apesar da defesa da escrita que encon-
tramos em Benjamin, defesa proveniente da compreen-
são da verdade alcançada na literatura, no ofício do es- 113
critor, a escrita apenas é possibilitada pela compreensão
da experiência. O conceito de experiência na expressão
alemã que o significa – Erfahrung – já implica o ir além
1
Nicholsen (1977) analisa essa expressão de Adorno, relacionando questões da
Teoria Estética e do Ensaio como Forma.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 113 24/1/2005, 11:38
de algo; o radical “fahr” implica a noção de viagem. O
que está escrito está para além do escrito: a escrita é o
refúgio da verdade, sua forma, o modo dizível do ser da
verdade, uma espécie de fulguração bela da verdade. A
vida é o que escapa, a experiência é o fundo inenarrável
da narrativa. A vida só é texto no que podemos ler dela,
mas isso não é a vida inteira, a vida que não se encaixa
sob qualquer totalidade, sob qualquer forma. Não se trata
apenas da reedição da questão paulina de que o espírito
vivo está para além da letra morta, mas antes que da
letra viva brota outra vida, não a do espírito, mas a da
matéria modificada pelo impulso do pensamento. A im-
portância da filosofia como pensamento e escrita, sua
decisão, sua função, está para além dela mesma. Que a
forma tenha uma função não deve significar mero funci-
onalismo, aplicabilidade, utilidade da escrita filosófica
ao mundo da política, ao mundo do conhecimento, mas
que a forma é, ela mesma, a política e o conhecimento.
A forma da filosofia é o seu ser e, nesse sentido, sua fun-
ção como ação que lhe é imanecente, como movimento
interno do seu “mecanismo” e, de um ponto de vista
lingüístico, como relação entre texto e contexto. Se a
filosofia é ensaio, seu método é a inversão, é a procura
pelo avesso, e enquanto função o ensaio é, antes da ade-
quação entre forma e conteúdo, entre texto e contexto,
a desestabilização da forma e a provocação do conteúdo
rumo ao escancaramento do poder da retórica.
Tanto para Benjamin quanto para Adorno, a filo-
sofia é política tanto quanto escrita (Adorno, 1992, p.
96) 2 . A solidariedade do intelectual com o sofrimento
114 humano (Adorno, 1992, p. 20) parece ter relação com a
escrita como morada daqueles que não têm pátria. Escre-
ver é uma ação política: o escritor pode ser um agente
2
Os estrangeirismos, que Adorno utiliza abundantemente em seus textos e que
eram, para ele, os “judeus da linguagem”, são aqui o modelo declarado da
sutileza política de Adorno e revelam uma tendência declaradamente anti-
heideggeriana.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 114 24/1/2005, 11:38
secreto do ativismo político. O modo solitário da vida do
intelectual tem função social, sobretudo a considerar-se a
solidariedade com o sofrimento que engaja o filósofo ao
mundo. Diante de um mundo de opressão e sofrimento, a
escrita é a saída para a filosofia, ela é a única atividade
redentora. A filosofia se torna lingüística como alternati-
va à impossibilidade do exercício da fala, do encontro, do
contato. A questão da linguagem, nesse caso, não é ape-
nas a da comunicação (Adorno, 1992, p. 20)3 , mas a da
crítica da linguagem e da salvação através da linguagem
como lugar de expressão e da ação.
O texto “Ensaio como forma”, de Theodor Adorno
(1990), escrito nos anos 1960, faz parte do projeto da
Teoria Crítica, a filosofia alemã nascida nas primeiras dé-
cadas do século XX e que se estende até a atualidade,
tendo como proposta fundante a de realizar a liberdade
na sociedade a partir do pensamento esclarecedor, como
rezava a assumida petição de princípio de Adorno e
Horkheimer (1984, p. 13) ao início da Dialética do Escla-
recimento, de 1947. A idéia central desse texto define que
a liberdade do pensamento só se realiza na produção da
emancipação pelo pensamento. A filosofia é o lugar ex-
celente onde a liberdade de pensar – como liberdade do
sujeito, mesmo como liberdade tout court – se coloca como
intenção e ação e a forma com que ela se dá ao mundo
define sua qualidade, sua espécie, sua função.
“A heresia (Ketzerei) é a mais intrínseca lei formal
do ensaio”, escreve Theodor Adorno (1990, p. 33), dan-
do ao século da autocrítica da filosofia, um lugar declara-
do a uma tendência antes subterrânea à toda a história do
pensamento. A heresia dá o tom do texto de Adorno en- 115
quanto revela o pensamento como expressão de liberda-
de e o conhecimento como outra política a escrita. Eleva-
da a lei, ela assume-se como contradição na lei. Texto
onde a negatividade da dialética se eleva a estilo, o en-
3
Ibid. Ver parágrafo 64,“Moral e etilo”.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 115 24/1/2005, 11:38
saio como forma propõe um modo de apresentação para
a filosofia baseado nas grandes questões que envolvem
esse estilo em seu nascedouro e pretende fazer valer ele-
mentos recalcados pela perspectiva filosófica da
modernidade. A sua proposta é a inversão como méto-
do. Em Benjamin, o método da filosofia é desvio (Benja-
min, 1984, p. 50): esse desvio é o que o ensaio possibili-
ta, mais do que o fragmento, aparentando-se ao tratado.
O ensaio, do ponto de vista da Dialética Negativa apli-
cada ao texto, tal como a encontramos no “Ensaio como
forma” de Theodor Adorno, deve tocar no avesso, no
intocado, nas questões menores, indecifráveis, desim-
portantes. O ensaio deve assumir o anacrônico onde faz
sua morada e, nesse sentido, ser herege no tempo, deve
comprometer-se com o erro e permitir o esboço, sendo
assim herege com o sistema em sua intenção de ser com-
pleto, deve assumir o solavanco do pensamento e, desse
modo, ser herege com a lógica, o modo como a filosofia
encontrou de sustentar ideologicamente um modo de
pensamento que pretendia ser ele mesmo a verdade. Deve
procurar o particular por oposição ao universal e, toda-
via, retornar a ele. A maior heresia do pensamento que
pretender deixar de ser pensamento, de abdicar da
autoconservação como valor maior? O contra-senso, o
disparate são as estratégias.
O ensaio é o modo da escrita que revela um pen-
samento que não se rende ao dado, à regra, à lei. Autô-
nomo, o ensaio é a forma da escrita que constrói suas
próprias leis enquanto procura reconhecer o modo de
rompê-las. O ensaio promove a liberdade do pensamen-
116 to que só se pode realizar quando o pensamento investe
todas as suas forças de sua virtude de coisa efêmera. A
virtude é a da passagem, da caducidade benéfica, do que
não pode ter um fim em si, mas deve pensar no fim que
o transcende, apenas essa idéia conserva a autonomia,
sem transformá-la em autoconservação ou solipsismo.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 116 24/1/2005, 11:38
A auto-superação do eu/o fim do sujeito
filosófico
O ensaio é filosofia da modernidade nascendo jun-
to à problemática do eu. O eu – um dos temas recalcados
pela filosofia – é tratado pelo ensaio de muitos modos, do
mais sério ao mais herético. Se a modernidade é o tempo
da inexorabilidade do sujeito e de sua expressão sob o
nome do eu, todavia, a expressão do eu é o que ela, mui-
tas vezes, recalca. A ciência moderna é fundamentada no
pensamento de Descartes que fez do método uma
autoposição do eu, revelando todo o poder de susten-
tabilidade que o cogito patrocina em termos lógicos para a
existência. Todavia, é constantemente descartada para os
fins da compreensão moderna da ciência a validade da
narrativa cartesiana que aconchega o capítulo sobre o
método em um dos mais famosos textos da modernidade
científica: Le discours de la méthode (Descartes, 2000). O
eu que adquire validade para a ciência – validada ela
mesma na história da concepção dessa idéia – é o eu do
cogito, do penso, ergo sum. Assim ele também valerá para
a filosofia moderna. O caráter descritivo e mesmo vago
do restante do texto (no qual Descartes menciona e até
descreve fatos menos importantes para a filosofia, como a
temperatura do quarto onde ele se refugia para pensar)
não é levado em cona para os fins da filosofia, esse discur-
so lógico que precisa de abstração da razão. A filosofia
moderna, entretanto, não é o recalque do aspecto literá-
rio dos textos, mas a vertente da filosofia moderna que
associa filosofia e ciência é o recalque da questão de esti-
lo. Junto com ele vai o eu para a vala comum do recalque. 117
O estilo, assim como o eu, só reaparecerá como problema
no século XX movido pelos impulsos de filósofos do sécu-
lo XIX (dos românticos aos hermeneutas), mormente
Nietzsche, que, mais do que uma metateorização do esti-
lo, reformulam as bases e o sentido da forma em filosofia.
O eu é o que possibilita o ensaio. Se o ensaio pro-
duz a instabilidade, é porque há o elemento subjetivo que
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 117 24/1/2005, 11:38
irrompe no texto sob a forma do eu. Daí o parentesco no
tempo e na lógica com a forma do romance. O século
XVI e o XVII estão cheios de escrotos – da literatura à
filosofia – que escancaram a função do eu, o drama me-
lancólico da existência, a tragédia do ser, do saber, do
poder. O ensaio está para a filosofia como o romance
para a literatura. Os Ensaios de Montaigne surgem em
1580, enquanto D. Quixote surge entre 1605 e 1615.
Ambos providenciam a aventura do sujeito diante de si
mesmo e do desespero da razão fundando a existência
como uma novidade a ser vivida. Talvez o fato de que o
sujeito de Montigne não sucumbe à loucura, como ocor-
re ao personagem de Cervantes, se deva às característi-
cas rígidas da compleição do ensaio. Esse não pode, sob
pena de eliminar seu sentido, abdicar da mediação pelo
conceito. Toda loucura no ensaio deve passar pelo crivo
da razão, toda razão deve ser medida em si mesma sob o
olhar atento do conceito. Por isso, ensaios não são lite-
ratura e não são arte, não são, do mesmo modo, ciência,
mas podem ser um gênero particular de filosofia, a de
que, o tempo todo, se mede com seu contrário e corre o
risco de deixar de ser aquilo que cada filosofia instaura-
da declara como sendo “filosofia”.
Levando adiante a idéia de que a maior heresia do
pensamento é a de deixar de ser pensamento através das
artes do pensamento – deixar de ser filosofia por meio
da filosofia –, qual seria a maior heresia para o eu do que
deixar de ser o eu? O sentido desestabilizador do eu in-
sere-se no eixo do previamente programado como filo-
sofia, uma espécie de ciência que, pautada na objetivi-
118 dade, recalca o poético, a imaginação, o expressivo e
todo o âmbito do estético no que ele possa ter de rebel-
de à ordem. O giro do eu no ensaio é o da heresia como
reviravolta copernicana: se o eu foi eliminado por seu
excesso de abstração pela ciência que procurou a objeti-
vidade epistêmica contra a opinião subjetiva, ele retorna
no ensaio como força do sujeito, porta de entrada da
subjetividade que se arromba de fora para dentro por
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 118 24/1/2005, 11:38
meio da minúscula palavra: Je, I, Ich, Io, Ego, Eu. Escre-
ver o Ensaio, assumir o Eu, torna-se heresia. O seu mo-
mento mais cruel ocorre quando se descobre o eu como
nada, ponto em que ele perverte o cogito e não pode
mais fundamentar a ciência, mas apenas a loucura ou a
existência desvairada. A resposta ao problema do sujei-
to filosófico pode soar terrível: apenas é filósofo aquele
que não se importa em sê-lo, pois ser filósofo ou definir-
se sob outra classificação qualquer é o que menos impor-
ta a quem se ocupa com a liberdade do pensamento. O
eu é esse foco rebelde que, em Augusto dos Anjos, es-
carnecerá da carne, da ciência, do filósofo moderno como
também o fazia Nietzsche defendendo as virtudes filosó-
ficas da vaca contra o “homem moderno” (Nietzsche,
1998, p. 15).
A filosofia moderna – que em seu nascedouro é
uma filosofia do eu – realiza essa idéia em vários de seus
momentos. Além de Descartes, quem constrói a frase do
cogito como o lema da modernidade, posicionando o eu
no foco central da existência, Michel de Montaigne inau-
gura o estilo propriamente dito do ensaio em seu famoso
e já citado livro de 1580 (Montaigne, 1996, p. 31). É
conhecida a frase inicial do prefácio no qual o autor afir-
ma ser ele mesmo a matéria de seus – afinal – Ensaios. A
intenção de Montaigne é a de fazer valer a perspectiva
parcial fundada em uma existência concreta: a sua. Cada
trecho do livro, cada tema tratado terá a marca da pers-
pectiva pessoal e até mesmo do erro que ela possibilita.
Montaigne quer fazer valer a existência, mais do que a
lógica, a aventura de viver, mais do que a sua certeza
epistemológica. Mais do que penso, logo existo, temos o 119
existo, logo penso. E, portanto, escrevo. O livro, por sua
vez, é escrito para ser lido pelo próprio autor ou o cir-
cuito de seus íntimos (a leitura para Montaigne), e a fi-
losofia não tem a pretensão da universalidade de seu ar-
gumento, ou estamos diante do mais rematado e requin-
tado dos solipsismos (o eu comanda a cena e o lugar da
objetividade e reduz tudo a si mesmo), mas, de fato, a
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 119 24/1/2005, 11:38
alternativa de interpretar a empreitada de Montaigne
como essa entrada herege do eu na cena do estabeleci-
mento da verdade é a arma política da escrita, do discur-
so, da retórica e que mais se aproxima ao tom da questão
da inexorabilidade do sujeito que dá lugar à modernidade
filosófica. Mas a heresia do eu irá ainda mais fundo; será
possível debochar do eu.
Ao lado dessas iniciativas encontramos o livro de
Robert Burton (2000) A anatomia da melancolia, no qual
o autor afirma ser o leitor da matéria de seu livro. O esfor-
ço burtoniano é bem avesso aos esforços de Descartes e
Montaigne de colocar o eu como existente. Burton parti-
rá do fato de que ele mesmo – o autor de seu livro – não
existe; assumirá um pseudônimo bastante irônico
(Democritus Junior); pensar-se-á como um anão, que pre-
cisará subir nas costas de um gigante para ver mais longe,
o que justifica milhares de citações que esse livro de mi-
lhares de páginas contém. O livro será um tratado no qual
as citações se acumulam, formando um corpo. Um corpo
para justificar o eu.
Descartes afirmará que pensa logo existe, Montaigne
que existe e portanto pensa e Burton que não existe e
nem pensa, por isso compila. Três figuras alegóricas do
pensar, do escrever e do ler. Três figuras que enfatizam um
momento de sua obra, de sua construção baseada na aven-
tura da existência sem tutela alheia. Não se enganem os
estudiosos e interessados: os três aspectos podem ser en-
contrados nos três autores, mas a questão revelada está na
ênfase da diferença: o eu vale tudo e vale nada, vale para
muitas coisas e só vale pelas coisas que promove.
120 Esse lugar do eu jamais será abandonado pela filo-
sofia moderna. Depois desses autores, encontramos
Kierkegaard forjando pseudônimos e personagens para
seus livros de filosofia, encontraremos Nietzsche derru-
bando e erguendo o eu [sob o mesmo aspecto: ora, como
4
Os primeiros três capítulos do livro recebem tais subtítulos.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 120 24/1/2005, 11:38
é possível interpretar lado a lado as frases: “por que sou
tão sábio”, “por que sou tão inteligente” e “por que es-
crevo livros tão bons” (Nietzsche, 1995)4 e o “eu é uma
superstição”, assim como a alma e o sujeito? (Nietzsche,
1987, p. 11-12)] em seus textos. No século XIX, o eu
implode em favor de um alargamento da subjetividade,
estendida para além do eu penso. Se quisermos chamar
a discussão para outro par importante dessa passagem,
enviemos nosso olhar a Kant e Schopenhauer. Se, para o
primeiro, o sujeito é aquele que possui a capacidade de
dar a si mesmo as suas próprias regras, no segundo, essas
regras estarão para sempre perturbadas pelo denomina-
dor comum da vontade cega e insana que comanda o
destino humano em seu sem fundo. Aos poucos o eu
deixa de valer como emblema de um sujeito. O sujeito
será o nome da vontade, mas o avesso será o lugar do
que se quer saber do sujeito.
Diante desse quadro ao qual a psicanálise freudiana
dará a coroa cintilante, a filosofia de Theodor Adorno
sustenta ainda a noção de sujeito ocupando o lugar do
narrador do ensaio. Mas o sujeito é, para esse filósofo, tam-
bém objeto. O sujeito do ensaio não se oculta como nos
textos com pretensa objetividade científica. É ele quem
erige o texto segundo seu arbítrio e não se envergonha de
seu gesto, pois a heresia obtém seu perdão diante da sem-
pre possível frustração da tentativa. Porém, se a heresia se
confirma como argumento aceitável e, portanto, como
acerto, manifesta-se outro grau de heresia: ela se confirma
como lei, é um modo de ser e uma ação do pensamento.
A filosofia de Adorno nasce da experiência de sua objeti-
vidade. Ser o sujeito, em sua filosofia, depende da noção 121
de autonomia – segundo Kant, a capacidade de dar a si
mesmo as suas próprias regras – associada à noção de in-
consciente. Mais do que isso, apesar da importância do
sujeito para a filosofia, o sujeito é muito pequeno, força
da consciência, ele é também o que nega a consciência.
O sujeito é o autor da escrita filosófica, mas a escrita não
morre na intenção do sujeito.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 121 24/1/2005, 11:38
Referências
ADORNO, T. 1990. Der Essay als Form. In: ADORNO, T. (org.). Gesammelte
Schriften. Frankfurt am Main, Suhrkamp.
ADORNO, T. 1992. Mínima moralia: reflexões a partir da vida danificada. São
Paulo, Ática, 216 p.
ADORNO, T. e HORKHEIMER, M. 1984. Dialética do esclarecimento. Rio de
Janeiro, Jorge Zahar, 254 p.
BATAILLE, G. 1989. A literatura e o mal. Porto Alegre, L&PM, 222 p.
BENJAMIN, W. 1984. Origem do drama barroco alemão. São Paulo, Brasiliense,
276 p.
BURTON, R. 2000. Anatomy of melancholy. Montana, Kessinger, 547 p.
DESCARTES, R. 2000. Le discours de la méthode. Paris, Librairie Genérale
Française, total de páginas?
MONTAIGNE, M. 1996. Ensaios. São Paulo, Abril Cultural, 279 p.
NICHOLSEN, S.W. 1997. Exact imagination, late work. On Adorno’s aesthetic.
Massachusetts, The MIT Press.
NIETZSCHE, F. 1987. Para além do bem e do mal. Lisboa, Guimarães, 262 p.
NIETZSCHE, F. 1995. Ecce homo. Como alguém se torna o que é. São Paulo,
Cia. das Letras, 169 p.
NIETZSCHE, F. 1998. Genealogia da moral. São Paulo, Cia das Letras, 179 p.
PLATÃO. 1993. Fedro. In: Obras completas. 2ª ed., Madrid, Aguillar.
TRÍAS, E. 2002. La filosofía y su poética. Archipiélago. Cuadernos de Crítica de
la Cultura, 50:página inicial-final?
122
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 122 24/1/2005, 11:38
O ensaio
(Comentários a Antônio
Sanseverino e Márcia Tiburi)
Eliane Cristina Deckmann Fleck*
Penso que para iniciar o debate seria interessante
tratar o gênero ensaístico a partir de sua historicidade, na
medida em que houve momentos históricos em que a prá-
tica ensaística alcançou maior vigor e em outros, não.
Segundo Lúcia Lippi Oliveira, na América Latina,
o ensaio esteve ligado ao jornalismo e se ocupou do con-
creto, do contemporâneo, dos problemas urgentes. Esta
prosa de não-ficção foi basicamente produzida para ser
publicada em jornais e só depois reunida em livro. Esteve
ocupada em enunciar problemas e funcionou como crô-
nica da sociedade (Oliveira, 1997, p. 63-69).
Os ensaístas latino-americanos do século XIX se
colocavam como salvadores, propunham programas de
reformas para a sociedade; eram líderes políticos e ensaístas 123
como Sarmiento e Alberdi. Os ensaístas do século XX,
ainda que enunciassem os problemas da sociedade, dei-
xavam a solução para os sociólogos, para os economistas
e para os políticos…
1
Doutora em História pela PUCRS. Professora do Curso de Graduação e do
Programa de Pós-Graduação em História da UNISINOS.
HISTÓRIA
HISTÓRIAUNISINOS
UNISINOS Vol.
Vol.88 Nº
Nº10
10 JUL/DEZ
JUL/DEZ p. 123-130
2004
Historia10.p65 123 24/1/2005, 11:38
Discursos, cartas abertas e artigos polêmicos de jor-
nal revelam o papel doutrinário e crítico dos ensaístas la-
tino-americanos que, ao exporem suas idéias, opiniões,
teorias, procuravam ganhar adeptos e influir na exposi-
ção dos problemas da sociedade.
Segundo a mesma autora, a questão não resolvida
da identidade nacional dos países latino-americanos cons-
tituiu-se em campo privilegiado para o ensaísmo. Radio-
grafias, diagnósticos das culturas nacionais são constantes
nesta literatura ocupada com a identidade nacional. Em
razão disso, tornaram-se temas recorrentes o progresso e o
papel do intelectual na sociedade.
Nas primeiras décadas do século XX – até 1940 –,
o ensaísmo ganhou projeção, a partir de reflexões pesso-
ais e íntimas dos autores, marcadamente pela sua experi-
ência subjetiva. O início da segunda metade do século
XX assistiria às Ciências Sociais se oporem à narrativa mais
fluida do ensaio.
Nos últimos 30 anos, no entanto, as fronteiras entre
as disciplinas voltaram a ser turvadas. Assistimos a novos
arranjos, a novas aproximações, como a que acontece
entre a História e a Antropologia. Categorias elaboradas
pela Antropologia em seu trabalho de campo vêm sendo
utilizadas pela História. Críticas à modernidade advindas
da Filosofia e da Crítica Literária afluem para o campo da
História e das Ciências Sociais.
Se, por um bom tempo, os ensaístas brasileiros, prin-
cipalmente a geração de 1930, foram tomados como “cri-
adores de mitos”, verifica-se que, no decorrer dos anos
1990, com a quebra dos paradigmas rigidamente científi-
124 cos, a Academia passasse a olhar com mais simpatia para
a intuição e o brilho das análises desses ensaístas. Gilberto
Freyre, Sérgio B. de Holanda e Paulo Prado, para citar
apenas alguns, são atualmente relidos, no mais das vezes,
com um olhar mais generoso do que o de outrora, quando
uma geração de intelectuais “enterrou” esses autores.
Quanto às análises sobre fenômenos simbólicos – o
campo da cultura –, estas têm assumido um formato me-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 124 24/1/2005, 11:38
nos fechado e, neste sentido, têm se aproximado do en-
saio. No momento atual, a interpretação assume feição
de seriedade, na medida em que se tem valorizado mais o
que se denomina “conflito de perspectivas”.
Um exemplo destes novos arranjos pode ser encon-
trado na antropologia interpretativa, de Clifford Geertz. Para
ele, a revalorização do ensaio significa a revalorização da
interpretação como recurso analítico:
[…] os estudos constroem-se sobre outros estudos, não no sentido
de que retomam onde outros deixaram, mas no sentido de que,
melhor informados e melhor conceituados, eles mergulham mais
profundamente nas mesmas coisas [...] é por essa razão, entre
outras, que o Ensaio, seja de trinta páginas ou trezentas, parece
o gênero natural no qual apresentar as interpretações culturais e
as teorias que a sustentam (Geertz, 1978, p. 35).
Nesta perspectiva, o ensaio aparece como o gênero
mais permeável a estes saberes que rompem as barreiras
entre as disciplinas e que abandonam a idéia ingênua de
que o texto científico expressa a realidade, confirmando
o espaço do ensaio como uma das formas de oposição a
qualquer pensamento essencialista.
Aprofundando estas reflexões, gostaria de destacar
a atuação de dois consagrados e celebrados ensaístas bra-
sileiros.
A primeira referência que faço é a Sérgio Buarque
de Holanda. Para tanto, lanço mão de um artigo publica-
do em O Estado de São Paulo, em 6 de julho de 2002, que
se insere nas comemorações alusivas ao centenário de seu
nascimento, ocorrido no ano passado.
O intelectual brasileiro do século XX, por Daniel 125
Piza:
Sérgio Buarque de Holanda (1902-82) é candidato forte a
intelectual brasileiro do século 20. Como historiador, ensaísta e
crítico literário, deixou uma obra que se destaca pela combina-
ção de rigor e criatividade, capaz de unir a seriedade da pesqui-
sa, a ousadia da interpretação e a consistência da análise. […]
O paralelo plausível de seu trabalho intelectual é o de Octavio
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 125 24/1/2005, 11:38
Paz, o grande ensaísta mexicano, autor de livros seminais
sobre seu país e a América Latina […] Sérgio Buarque tem
em comum com ele também a crítica literária […] Mas a
maior semelhança está na capacidade de ambos de interpretar
seus países, suas origens culturais, com uma prosa que recor-
re a metáforas eruditas e vivacidade narrativa, que seduz o
leitor pela argumentação e não pelo sentimento (Piza, 2002,
p. 30-31).
A segunda referência é a Raimundo Faoro (1925),
falecido a 15 de maio do ano passado. Na edição de Zero
Hora do dia seguinte, o jornalista Carlos André Moreira
assim se manifestou:
Faoro é o autor de um dos livros mais influentes do pensamento
brasileiro, o ensaio “Os Donos do Poder” […] Faoro passou a
juventude no Rio Grande do Sul e viveu o ambiente literário dos
anos 40 e 50, quando a Livraria do Globo era uma editora de
abrangência nacional. […] Em 1958, aos 33 anos, publicou
pela primeira vez o ensaio “Os Donos do Poder”, uma análise
da formação do que chamava o “patronato” brasileiro […] Mas
Faoro não se limitava a escrever sobre a sociedade, enveredan-
do também pela análise literária. Uma de suas obras mais cita-
das […] é “A Pirâmide e o Trapézio”, um estudo histórico-
social da obra de Machado de Assis e do período do Segundo
Reinado e do início da República (Moreira, 2003, p. 6).
Dentre os depoimentos inseridos na reportagem
destacamos os de Flávio Loureiro Chaves e de Carlos Nejar.
O primeiro se referiu a Faoro como “uma figura decisiva
para a literatura brasileira” por ter estabelecido “uma ponte
absolutamente sólida entre a literatura e a sociologia”.
Nejar manifestou-se em relação ao que considerou
a perda de “um ensaísta maior”, cuja obra identificou como
126 “um clássico da literatura social”.
Como pontos de aproximação entre Sérgio Buarque
de Holanda e Raymundo Faoro e que permitem a
potencialização do debate proposto para hoje à noite,
pode-se destacar:
• a experiência/a vivência no ambiente jorna-
lístico e literário;
• publicações literárias em revistas;
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 126 24/1/2005, 11:38
• a inserção em movimentos de vanguarda inte-
grados por jovens intelectuais;
• e, especialmente, aproximações possíveis (ou
apropriações na análise literária) com a obra de
Machado de Assis.
No caso de Sérgio Buarque de Holanda, estes as-
pectos em comum ficam evidenciados:
• na crítica aos polemistas da época, crítica aos
beletristas, ao bacharelismo, às estratégias de
“navegação social”;
• nas relações entre a “concepção de medalhão”
ou “Teoria do Medalhão” de Machado de Assis
e o homem cordial de Sérgio Buarque de
Holanda;
• no fato de Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes
do Brasil, ter intentado delinear uma psicologia
do povo brasileiro, assim como Machado de As-
sis recorreu à sensibilidade de zonas mais sombri-
as da cultura brasileira para detectar sentimentos
e formas da “psique” do brasileiro;
• Raízes do Brasil, de 1936, surgiu – como livro – a
partir do artigo “Corpo e alma do Brasil – en-
saio de psicologia social”, publicado na Revista
Espelho em 1935;
• respeitado como critico literário, Sérgio Buarque
de Holanda publicou, em 1944, Cobra de vidro,
um livro de ensaios escritos para o Diário de
Notícias e para o Diário Carioca.
Em relação a Faoro, deve-se lembrar – como já des-
tacado – que uma de suas obras mais citadas e reeditadas,
A pirâmide e o trapézio, constitui-se em um estudo históri- 127
co-social da obra de Machado de Assis e do período do
Segundo Reinado e do início da República.
Isto nos remete aos “usos e abusos” do termo “en-
saio” – um termo que se vê esvaziado de sentido, pois no
senso comum é percebido como qualquer texto reflexi-
vo, com ou sem objeto definido. Gênero desacreditado,
por ser produto híbrido, por carecer de uma convincente
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 127 24/1/2005, 11:38
tradição formal.
Lúcia Lippi Oliveira nos chama a atenção para o
sentido negativo dado ao termo: o ensaio, ou melhor, o
ensaísmo passou a ser uma categoria de acusação utiliza-
da para referir-se a trabalhos pouco sérios, generalizantes
e/ou doutrinários. Isto porque qualquer texto crítico, seja
sobre literatura, estética, história ou filosofia, é hoje de-
nominado de ensaio.
Dentre as principais objeções feitas ao ensaísmo
encontramos:
• predomínio da subjetividade, a ausência de ri-
gor conceitual e bibliográfico, a inaceitável pro-
ximidade em relação à escrita literária, idealis-
mo moral, a autonomia metodológica em rela-
ção ao seu procedimento científico e à sua fun-
damentação filosófica; e
• a negação do empirismo e do racionalismo como
método, a opção pelo transitório e a revolta
contra o dogma, por representar a forma acaba-
da da crítica ao sistema.
Mas, afinal o que é um ensaio?
• o mais enigmático dos gêneros literários e de
difícil definição;
• pode significar tanto trabalho em etapa inicial e
que será depois concluído quanto um texto cuja
forma básica é o discurso inacabado;
• desde Montaigne (Ensaios, 1580), o ensaio tem
sido visto como o triunfo de uma forma aberta,
marcando tendências antiescolásticas no cam-
po religioso, filosófico ou mesmo científico;
128 • caracteriza-se pela atitude antidogmática, pela
concentração na subjetividade, por uma escrita
não metódica;
• apresenta-se como uma das vertentes da
modernidade, ao expressar a riqueza da experi-
ência subjetiva, já que se presta à reflexão da
intuição individual;
• apresenta-se como forma de expressão da expe-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 128 24/1/2005, 11:38
riência intelectual, enquanto experiência senti-
mental; daí a abertura para o ficcional.
Há ainda aspectos de ordem metodológica que pre-
cisam ser considerados:
Para Ortega y Gasset, o ensaio é a ciência menos a
prova explícita: o ensaísta, sem abandonar a racionalidade,
a estrutura lógica, suprime as notas de pé de página e a
bagagem acadêmica e faz aparecer o processo pelo qual
os pensamentos são pensados;
Para Adorno, “o ensaio [...] assume em seu próprio
proceder o impulso anti-sistemático” do qual resulta uma
circulação fugidia dos temas ou, para usar a expressão de
Adorno, “um expulso do fixado” (Cohn, 1986, p. 175).
O método do ensaio consiste, nessa acepção, em negar
recorrentemente um ordenamento preconcebido, adquirin-
do o texto uma “autonomia estética”, consumando-se sua
escritura numa espécie de “excitação de linguagem”, que
está a todo o momento lembrando ao leitor que existe um
sujeito da enunciação visivelmente identificado. Para Ador-
no, “começa [...] com aquilo de que quer falar; diz o que lhe
ocorre, termina onde ele mesmo acha que acabou e não
onde nada mais resta a dizer” (Cohn, 1986, p. 173).
Poderíamos então dizer:
O primeiro impulso, aquele que desencadeia a trajetória da
enunciação, é pessoal; as relações estabelecidas respondem a
uma lógica cuja captura exige a próxima seqüência de seu
discurso. O que o autor efetivamente quer dizer só se percebe
mais adiante.
É mais do que o óbvio princípio do suspense a reger o início de
um texto, a fim de levar o espírito do leitor para o tema proposto
ou suscitar uma certa expectativa (Cohn, 1986, p. 176). 129
Talvez se pudesse dizer que o ensaio, meto-
dologicamente, se constitui num “pensando alto”.
Gostaria, então, de propor, uma reflexão ao An-
tônio:
- Em que medida o ensaio se constitui em gênero de
intervalo, entre o ficcional e o não ficcional, em gênero de
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 129 24/1/2005, 11:38
passagem? E em que medida podemos concordar que o
ensaísmo é procedimento que contribui para fazer esmaecer
os limites entre o texto histórico e o jornalístico? Creio que
poderias usar os exemplos de Sérgio Buarque de Holanda e
de Raimundo Faoro para desenvolver estas reflexões.
Para a Márcia – considerando minhas frágeis incur-
sões na Filosofia –, eu proporia que discorresse sobre como
a Filosofia tem lidado com uma das premissas centrais do
ensaísmo – a “perenização do transitório” –, na medida
em que o ensaísmo se revolta contra a doutrina – arraiga-
da desde Platão – que postula que o mutável, o efêmero,
não é digno da filosofia.
Gostaria de ouvi-la, também, sobre a afirmação de
Manoel da Costa Pinto de que o ensaio é texto em que
prevalece aquela tensão entre o que se nega e o que se
afirma. Acho que isto potencializa o estabelecimento de
relações entre o ensaísmo, a dialética e a retórica.
Há, ainda, uma outra questão intrigante: se “a mais
intrínseca lei formal do ensaio é a heresia” (Cohn, 1986,
p. 187) e se “na infração à ortodoxia do pensamento tor-
na-se visível aquilo que, por sua secreta finalidade objeti-
va, a ortodoxia busca manter invisível”, devemos, então,
aos hereges o conhecimento renovado?
Referências
COHN, G. (org.). 1986. Theodor Adorno. São Paulo, Ática, 208 p.
GEERTZ, C. 1978. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, Zahar, 324 p.
130 MOREIRA, C.A. 2003. Brasil perde a lucidez de Raymundo Faoro. Zero Hora,
16/05/2003, p. 6.
OLIVEIRA, L.L. 1997. O ensaio e suas fronteiras. In: AGUIAR, F.; MEIHY,
J.C. e VASCONCELOS, S. (orgs.). Gêneros de fronteira. Cruzamentos entre o
histórico e o literário. São Paulo, Centro Angel Rama.
PIZA, D. 2002. O intelectual brasileiro do século XX. O Estado de São Paulo, 06/
07/2002.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 130 24/1/2005, 11:38
Grafia da vida: reflexões sobre a
narrativa biográfica
Benito Bisso Schmidt1
Resumo:
O texto busca indicar a contribuição da literatura
para a discussão sobre a escrita biográfica, a qual não
pode ser desconsiderada pelos historiadores interessados
em narrar a vida de um indivíduo. Trata especialmente
da ilusão da unidade individual e da relação individual/
social.
Palavras-chave: biografia – narrativa – indivíduo – literatura.
Résumê:
Le texte essaie d’indiquer l’apport de la littérature
pour la discussion sur l’écriture biographique, lequel ne
peut pas être méprisé par les historiens qui veulent écrire
sur la vie d’un individu. Le texte analyse surtout l’illusion
de l’unité individuelle et le rapport entre l’individu et la 131
collectivité.
Mots-clé: biographie – récit – individu – literature.
*
Professor no curso de Graduação e História pela UFRGS. Mestre em História
pela UFRGS e doutor em História pela UNICAMP.
HISTÓRIA
HISTÓRIAUNISINOS
UNISINOS Vol.
Vol.88 Nº
Nº10
10 JUL/DEZ
JUL/DEZ p. 131-142
2004
Historia10.p65 131 24/1/2005, 11:38
Vou tratar de um gênero que traz a escrita em seu
próprio nome: biografia, grafia da vida... Que pretensão!
Pensar que é possível escrever uma vida, que as linhas
ordenadas de um texto podem expressar os inúmeros,
descontínuos e contraditórios fios de um destino pessoal.
Quero, pois, nesse artigo, refletir sobre tal pretensão, le-
vando em conta, especialmente, as contribuições da his-
tória e da literatura para essa discussão.
De início, pareceu-me desnecessário salientar, mais
uma vez, que, depois de um longo período de ostracismo
do campo do conhecimento histórico científico, a biogra-
fia retomou seu prestígio junto aos historiadores. Porém,
mudei de idéia ao me deparar com um artigo de Sérgio da
Costa Franco, publicado na Zero Hora há algum tempo.
Nele, o autor afirma:
A biografia – filão literário e historiográfico dos mais interes-
santes – não tem tido cultores na justa proporção do interesse do
público leitor. O desprezo marxista pelo papel do indivíduo na
História parece ser a causa principal desse vazio bibliográfico,
que reflete a abstenção quase sistemática do meio acadêmico
em relação ao estudo de personalidades (Franco, 2003, p. 16).
Desconsiderando a generalização excessiva sobre o
“desprezo marxista pelo papel do indivíduo na História”1 ,
bastaria um exame da historiografia acadêmica produzida
nas últimas duas décadas, no Brasil e no exterior, para evi-
denciar a incorreção da idéia da “abstenção quase sistemáti-
ca do meio acadêmico em relação ao estudo de personalida-
des”. Cito, entre muitos outros, os trabalhos recentes de
Jacques Le Goff sobre São Luís e São Francisco e o de Alain
132 Corbin sobre o desconhecido Louis-François Pinagot, e ain-
da, no âmbito da historiografia brasileira, o de Júnia Ferreira
Furtado a respeito da popular – pela via do cinema – Chica
da Silva (Corbin, 1998; Le Goff, 1996, 1999; Furtado, 2003).
1
Christopher Hill, por exemplo, conhecido historiador marxista, escreveu uma
excelente biografia de Oliver Cromwell. Ver Hill (1988).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 132 24/1/2005, 11:38
Feita essa primeira observação, passo à pergunta:
como os historiadores estão praticando o gênero biográfi-
co? Mais precisamente, como estão escrevendo a vida de
seus personagens?
Em primeiro lugar, parece-me que, apesar da prolí-
fica produção de biografias por parte dos historiadores,
esses últimos não têm manifestado grande interesse teóri-
co pela narrativa biográfica, ou seja, pelas possibilidades
e limites desse tipo de escrita. Desinteresse surpreenden-
te, pois, como ressalta Giovanni Levi:
a biografia constitui [...] o canal privilegiado através do qual os
questionamentos e as técnicas peculiares da literatura se trans-
mitem à historiografia. Muito já se debateu sobre esse tema,
que concerne sobretudo às técnicas argumentativas utilizadas
pelos historiadores. Livre dos entraves documentais, a literatu-
ra comporta uma infinidade de modelos e esquemas biográficos
que influenciaram amplamente os historiadores. Essa influên-
cia, em geral mais indireta do que direta, suscitou problemas,
questões e esquemas psicológicos e comportamentais que puse-
ram o historiador diante de obstáculos documentais muitas ve-
zes intransponíveis: a propósito, por exemplo, dos atos e dos
pensamentos da vida cotidiana, das dúvidas e das incertezas, do
caráter fragmentário e dinâmico da identidade e dos momentos
contraditórios de sua constituição (Levi, 1996, p. 168-169).2
Concordando com as afirmações de Levi, creio ser
preocupante sua indicação de que a influência da litera-
tura sobre o historiador, no que diz respeito às técnicas
argumentativas da narrativa biográfica, ocorra de manei-
ra “mais indireta do que direta”, de forma inconsciente,
diria eu. Isso porque, por via de regra, os historiadores
que se dedicam à biografia buscam nas obras literárias 133
apenas uma inspiração estética formal, exemplos de como
escrever “mais bonito”, sem se preocuparem com as vari-
adas e refinadas possibilidades cognitivas que tais referên-
cias oferecem.
2
Grifo meu.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 133 24/1/2005, 11:38
Assim, por exemplo, muito antes de Pierre Bourdieu
chamar a atenção para a “ilusão biográfica”, ou seja, para
a falácia de se considerar uma vida como “[...] um todo,
um conjunto coerente e orientado, que pode e deve ser
apreendido como expressão unitária de uma ‘intenção’
subjetiva e objetiva, de um projeto [...]” (Bourdieu, 1996,
p. 184), diversos literatos já suspeitavam da possibilidade
mesma da escrita biográfica. Nesse sentido, Mark Twain
declarou: “As biografias são apenas as roupas e os botões
da pessoa. A vida da própria pessoa não pode ser escrita”.
Já Marguerite Yourcenar referiu-se a ela mesma como “esse
ser que chamo de eu”, questionando a existência de um
“eu-individual” que pudesse servir como fio condutor da
narrativa.
De acordo com Allain Robbe-Grillet, “o advento
do romance moderno está ligado precisamente a esta des-
coberta: o real é descontínuo, formado de elementos jus-
tapostos sem razão, todos eles únicos e tanto mais difíceis
de serem apreendidos porque surgem de modo incessan-
temente imprevisto, fora de propósito, alealório”
(Bourdieu, 1996, p. 185). Assim, Tristam Shandy, de
Sterne, pode ser considerado o primeiro romance moder-
no, ao destacar a extrema fragmentação de uma biografia
individual.
A fim de dar conta dessa fragmentação em sua nar-
rativa, Sterne estabeleceu um diálogo entre o protagonis-
ta (Tristam), o autor e o leitor: “Trata-se de um meio efi-
caz de construir uma narrativa que dê conta dos elemen-
tos contraditórios que constituem a identidade de um in-
divíduo e das diferentes representações que dele se possa
134 ter conforme os pontos de vista e as épocas” (Levi, 1996,
p. 170). Da mesma maneira, Diderot – admirador de
Sterne, mas um cético quanto às possibilidades da biogra-
fia em captar a essência do indivíduo – também resolveu
o problema do estilhaçamento do eu pelo uso do diálogo:
em Jacques, o fatalista, o jovem Jacques e seu mestre “[...]
têm cada qual sua própria vida e trocam seus pontos de
vista e não raro seus papéis”. Para esses autores, ainda
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 134 24/1/2005, 11:38
conforme Levi, “[...] o diálogo não era apenas o meio de
criar uma comunicação menos equívoca; era também uma
forma de restituir ao sujeito sua individualidade comple-
xa, livrando-o das distorções da biografia tradicional que
pretendia, como numa pesquisa entomológica, observá-
lo e dissecá-lo objetivamente” (Levi, 1996, p. 171).
Fica, então, uma pergunta para o debate: poderia o
historiador utilizar o recurso do diálogo em seus textos
biográficos? Com quais limites?
Na literatura contemporânea, Virginia Woolf
(1978), em Orlando, zombou do hábito dos biógrafos que
se ocupam de apenas seis ou sete “eus”, quando uma mes-
ma pessoa possui milhares deles. Também Robert Musil,
no romance inacabado O homem sem qualidades, procu-
rou escapar da ilusão da unidade da vida. De acordo com
Hermano Vianna (1988, p. 57-58), “o homem sem quali-
dades é aquele que recusa ser aprisionado por uma essên-
cia ou pela linearidade de uma biografia. No homem sem
qualidades nada é permanente, tudo é mutável, provisó-
rio, precário, contingente: estão abertas, para sempre, to-
das as possibilidades do ser.” Um último exemplo: o Livro
do desassossego, de Fernando Pessoa, assim caracterizado
por Verena Alberti (2000, p. 219): “[...] um livro sobre o
tédio, sobre a impossível unidade do eu, uma anti-autobi-
ografia – não há ‘curso da vida’, ‘trajetória’, ‘carreira’”.
Creio que os historiadores não podem ficar imunes
a essas e outras tantas provocações – não só estéticas, mas
também epistemológicas – que vêm da literatura, sobre-
tudo do romance e da poesia modernas. Delas decorrem
inúmeros questionamentos: quantos “eus” de cada exis-
tência o historiador pode resgatar em suas fontes? Como 135
pode a narrativa histórica – tão afinada com o romance
realista – representar a descontinuidade e a fragmentação
de uma biografia?
Uma ousada tentativa de responder à última ques-
tão foi posta em prática pelo medievalista italiano Arse-
nio Frugoni em seu livro (de 1954!) sobre o reformador
do século XII Arnaud de Brescia. Em cada um dos dez
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 135 24/1/2005, 11:38
capítulos da obra, o autor analisa um conjunto específico
de fontes, do qual se depreende uma imagem diferencia-
da do personagem. Frugoni não busca, em nenhum mo-
mento, sintetizar esses fragmentos em uma imagem
totalizadora, nem descobrir alguma essência ou unidade.
Aliás, ele se recusa terminantemente a dar um sentido
geral à sua narrativa. Como assinala Alain Boureau na
introdução da edição francesa do livro, “Frugoni [...] toma
partido do fragmento, da descontinuidade do real; um fato
repetido por diversas fontes não possui forçosamente maior
realidade do que um detalhe pouco visível oferecido por
uma única fonte” (Frugoni, 1993, p. XV).3
O estudo de Frugoni lembra a proposta de Michel
Foucault em seu projeto sobre o jovem francês Pierre
Rivière, que matou a mãe e os irmãos em 1835: ao invés
de pretender unificar o personagem em uma única narra-
tiva ou hierarquizar discursos mais ou menos verdadeiros
sobre seu ato, Foucault permite que diferentes “Rivières”
aflorem das fontes: o Rivière criminoso do discurso judi-
cial, o Rivière louco do discurso médico, o Rivière justi-
ceiro do memorial escrito pelo próprio assassino, etc.
(Foucault, 1991).
Seria essa uma boa estratégia para a escrita biográ-
fica?
Não, segundo Carlo Ginzburg, que acusa Foucault
de “irracionalismo estetizante”:
A figura do assassino, Pierre Rivière, acaba passando para
segundo plano – justamente quando são publicadas suas memó-
rias, escritas por ele a pedido dos juízes, que procuravam uma
explicação para o tríplice crime. A possibilidade de interpretar
136 esse texto foi excluída de forma explícita, porque equivaleria a
alterá-lo, reduzindo-o a uma “razão” estranha a ele. Não sobra
mais nada, além de “estupor” e “silêncio” – únicas reações
legítimas (Ginzburg, 1987, p. 23).
3
As traduções do francês são de minha responsabilidade.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 136 24/1/2005, 11:38
Defendendo a postura política e epistemológica de
Foucault, Durval Muniz de Albuquerque Júnior respon-
deu às críticas de Ginzburg:
[...] Menocchio [o moleiro herege do século XVI estudado por
Ginzburg] termina se explicando pelo contexto mesmo com
toda a sua singularidade. Foucault, ao contrário, embora reco-
nheça ressonâncias do contexto nas atitudes de Rivière, não o
reduz a estas influências; há sempre algo de estranho e singular
que o distingue do meio circundante. Na verdade, a preocupa-
ção de Foucault não é explicar as palavras e atos de Rivière,
mas como estas palavras e atos foram silenciados (Albuquerque
Jr., 1991, p. 51).
Esse difícil debate teórico – que, em todo caso, não
pode estar ausente do horizonte de preocupações do his-
toriador biógrafo – remete a outro, não menos complica-
do: o da relação indivíduo/sociedade. Tal questão é recor-
rente para aqueles que se dedicam à biografia e, mais do
que isso, constitutiva da tradição filosófica ocidental: veja-
se, por exemplo, o conflito entre heroísmo e destino na
tragédia clássica, entre livre-arbítrio e onipotência divina
na teologia cristã, entre estruturalismo e existencialismo
na filosofia moderna e entre voluntarismo e determinismo
no âmbito do pensamento marxista4 .
Penso que o historiador-biógrafo não deve procu-
rar resolver esse problema optando por um dos “pólos”,
o do indivíduo ou o da sociedade, mas sim adotando
estratégias narrativas que estabeleçam uma permanente
tensão entre o personagem e os constrangimentos/possi-
bilidades de sua época. Afinal, como afirma Levi (1996,
p. 179-180), 137
[...] nenhum sistema normativo é suficientemente estruturado
para eliminar qualquer possibilidade de escolha consciente, de
manipulação ou de interpretação das regras, de negociação. A
meu ver a biografia é por isso mesmo o campo ideal para verifi-
4
Para essa discussão, indico Gouldner (1983).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 137 24/1/2005, 11:38
car o caráter intersticial – e todavia importante – da liberdade de
que dispõem os agentes e para observar como funcionam con-
cretamente os sistemas normativos, que jamais estão isentos de
contradições.
Tal discussão atravessou a filosofia, a historiografia
e também a literatura do século XIX: por um lado, época
do individualismo, da introspeção romântica, de uma ver-
dadeira febre de autobiografias, memórias, cartas e diári-
os íntimos e ainda do nascimento da psicanálise; por ou-
tro, período das grandes filosofias da história (como o
positivismo e o marxismo), que então tendiam a atribuir
uma ínfima margem de ação aos indivíduos, e das grandes
epopéias históricas construídas a partir de sujeitos coleti-
vos como o povo e a nação (Michelet e Lavisse).
Na literatura, essa tensão perpassa, por exemplo,
o monumental Guerra e paz de Tolstói, um gigantesco
painel construído a partir das interações – políticas, bé-
licas, amorosas, etc. – dos personagens e não de um qua-
dro estático onde os indivíduos são colocados a posteriori.
No epílogo do livro, o romancista russo discute com mais
vagar o problema da relação entre indivíduo e história.
Referindo-se à invasão napoleônica na Rússia, ele afir-
ma: “um acontecimento no qual milhões de homens se
mataram, onde mais de meio milhão encontraram sua
morte, não pode ter por causa a vontade de um só ho-
mem [...] há uma infinidade de causas e nenhuma dentre
elas pode ser chamada de a verdadeira causa” (Tolstoï,
1974, p. 785). Refletindo sobre o par liberdade/necessi-
dade, Tolstói pergunta:
138 O homem, em ligação com a vida geral da humanidade, apare-
ce submetido às leis que regem esta vida. Mas o mesmo ho-
mem, independentemente deste laço, aparece como livre. Como
a vida passada dos povos e da humanidade deve ser considerada,
como produto da atividade livre ou dirigida dos homens? Eis o
problema da história (Tolstoï, 1974, p. 758).
Tem-se, assim, mais uma interrogação: como expres-
sar a tensão personagem/contexto na escrita biográfica?
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 138 24/1/2005, 11:38
A solução mais fácil seria pôr em prática aquilo que
Sabina Loriga chamou de “paradoxo do sanduíche”, ou
seja, superpor uma camada de contexto, uma de indiví-
duo e outra de contexto. Fácil mas artificial, porque dei-
xa em suspenso aquilo que parece ser o grande desafio
dos historiadores biógrafos na atualidade: compreender
as margens de liberdade individual diante dos sistemas
normativos. Nas palavras de Loriga (1998, p. 248), “[...]
o tempo histórico aparece como um fundo de cena fixo,
sem impressões digitais”.
Tentando superar esse dualismo, creio ser interes-
sante pensar o contexto como um “campo de possibilida-
des historicamente delimitadas” (Ginzburg, 1989, p. 183)5
e lembrar que os indivíduos biografados – como qualquer
indivíduo –, a cada momento de suas vidas, têm diante
de si um futuro incerto e indeterminado, diante do qual
fazem escolhas, seguem alguns caminhos e não outros. Se
hoje esse futuro já é passado, e o resultado das escolhas
feitas conhecido, o biógrafo tem a tarefa de recuperar o
“drama da liberdade” (ver Berlin, 2002) dos personagens
– as incertezas, as oscilações, as incoerências e, por que
não?, o papel do acaso –, mostrando que suas trajetórias
não estavam predeterminadas desde o início. Parodiando
Thompson, é necessário expressar o “fazer-se” do perso-
nagem ao longo de sua existência (Thompson, 1987).
Nesse sentido, o historiador interessado em cons-
truir uma biografia deve estar vigilante para não imputar
uma coerência artificial à vida estudada e deixar de lado
os “desde pequeno” e os “sempre” que só reforçam a ilu-
são biográfica (Bourdieu, 1996, p. 184). Tarefa difícil essa
porque as fontes de caráter autobiográfico e/ou memo- 139
rialístico, em geral, só reforçam tal concepção.
Cabe aqui lembrar a diferenciação feita por Michel
de Certeau entre biografias e hagiografias, as vidas de san-
tos, que, a partir da Idade Média, tinham por objetivo
5
Com uma abordagem semelhante, ver Velho (1999).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 139 24/1/2005, 11:38
educar os homens do “presente” a partir dos exemplos de
conduta de alguns “escolhidos” do passado (uma versão
cristã da historia magistra vitae):
Enquanto que a biografia visa colocar uma evolução e, portan-
to, as diferenças, a hagiografia postula que tudo é dado na ori-
gem com uma “vocação”, com uma “eleição” ou [...] com um
ethos inicial. A história é, então, a epifania progressiva deste
dado, como se ela fosse também a história das relações entre o
princípio gerador do texto e suas manifestações de superfície. A
prova ou a tentação é o pathos desta relação, a ficção de sua
indecisão (De Certeau, 1982, p. 273).
Ainda segundo De Certeau (1982, p. 273), o texto
hagiográfico “[...] conta-se a si mesmo focalizando o herói
em torno da ‘constância’, perseverança do próprio [...]. O
fim repete o começo. Do santo adulto remonta-se à infân-
cia na qual já se reconhece a efígie póstuma. O santo é
aquele que não perde nada do que recebeu”.
Resta questionarmo-nos sobre o quanto estamos nos
afastando – e o quanto podemos nos afastar – dessa tópi-
ca. Serão os personagens que nós construímos apenas san-
tos laicizados?
Concluindo, espero que esses questionamentos aju-
dem a motivar o debate sobre os modos e as modas da
“escrita da vida”.
Referências
ALBERTI, V. 2000. Um drama em gente: trajetórias e projetos de Pessoa e seus
140 heterônimos. In: SCHMIDT, B. (org.). O biográfico. Perspectivas interdisciplinares.
Santa Cruz do Sul, EDUNISC.
ALBUQUERQUE JR., D.M. de. 1991. Menocchio e Rivière: criminosos da
palavra, poetas do silêncio. Resgate, 2(2):48-55.
BERLIN, I. 2002. Estudos sobre a humanidade. Uma antologia de ensaios. São
Paulo, Companhia das Letras, 720 p.
BOURDIEU, P. 1996. A ilusão biográfica. In: FERREIRA, M.M. e AMADO, J.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 140 24/1/2005, 11:38
(orgs.). Usos & abusos da história oral. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas.
CORBIN, A. 1998. Le monde retrouvé de Louis-François Pinagot. Sur les traces
d’un inconnu (1798-1876). Paris, Flammarion. 336 p.
DE CERTEAU, M. 1982. A escrita da história. Rio de Janeiro, Forense Univer-
sitária, 352 p.
FOUCAULT, M. (coord). 1991. Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe,
minha irmã e meu irmão. Rio de Janeiro, Graal, 296 p.
FRANCO, S.C. 2003. Biografia tentadora. Zero Hora, Porto Alegre, 14/09/2003.
FRUGONI, A. 1993. Arnaud de Brescia dans les sources du XIIe siècle. Paris, Les
Belles Lettres, 246 p.
FURTADO, J.F. 2003. Chica da Silva e o contratador dos diamantes. O outro lado
do mito. São Paulo, Companhia das Letras, 464 p.
GINZBURG, C. 1987. O queijo e os vermes. O cotidiano e as idéias de um moleiro
perseguido pela Inquisição. São Paulo, Companhia das Letras, 309 p.
GINZBURG, C. 1989. Provas e possibilidades à margem de “Il ritorno de Martin
Guerre”, de Natalie Zemon Davis. In: GINZBURG, C.; CASTELNUOVO, E.
e PONI, C. (org.). A micro-história e outros ensaios. Lisboa, Difel.
GOULDNER, A. 1983. Los dos marxismos. Madrid, Alianza, 418 p.
HILL, C. 1988. O eleito de Deus. Oliver Cromwell e a Revolução Inglesa. São
Paulo, Companhia das Letras, 279 p.
LE GOFF, J. 1996. Saint Louis. Paris, Gallimard.
LE GOFF, J. 1999. Saint François d’Assise. Paris, Gallimard, 251 p.
LEVI, G. 1996. Os usos da biografia. In: FERREIRA, M.M. e AMADO, J.
(orgs.).Usos & abusos da história oral. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio
Vargas, 277 p.
LORIGA, S. 1998. A biografia como problema. In: REVEL, J. (org.). Jogos de
escalas. A experiência da microanálise. Rio de Janeiro, Fundação Getulio Vargas.
141
THOMPSON, E. P. 1987. A formação da classe operária inglesa. Rio de Janeiro,
Paz e Terra, 262 p.
TOLSTOÏ, L. 1974. Guerre et paix. Paris, Éditions de Poche.
VELHO, G. 1999. Trajetória individual e campo de possibilidades. In: VELHO,
G. (org.). Projeto e metamorfose. Antropologia das sociedades complexas. Rio de
Janeiro, Zahar.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 141 24/1/2005, 11:38
VIANNA, H. 1998. Robert Musil: as qualidades do homem moderno. In:
VELHO, G. (org.). Antropologia e literatura: a questão da modernidade. Comu-
nicação n. 12 do PPG em Antropologia Social. Rio de Janeiro, UFRJ/Museu
Nacional.
WOOLF, V. 1978. Orlando. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 185 p.
142
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 142 24/1/2005, 11:38
Aproximações entre história de
vida e autobiografia: os desafios
da memória
Marluza Marques Harres*
Resumo:
O texto apresenta uma reflexão sobre história oral
na qual são examinados importantes aspectos do proces-
so de rememoração.
Palavras-chave: história de vida – memória – escrita.
Abstract:
This work presents a reflection on oral history in
which relevant aspects of the rememorizing process are
examined.
Key words: history of a life – memory – writing.
O trabalho com a história oral está inscrito nos 143
marcos da renovação historiográfica das últimas décadas.
As dúvidas e os problemas são muitos neste tipo de pes-
quisa, e os consensos estão sendo, muito lentamente, es-
*
Professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em História da
UNISINOS. Doutora em História pela UFRGS.
HISTÓRIA
HISTÓRIAUNISINOS
UNISINOS Vol.
Vol.88 Nº
Nº10
10 JUL/DEZ
JUL/DEZ p. 143-156
2004
Historia10.p65 143 24/1/2005, 11:38
tabelecidos. Não creio que seja apenas um modismo, ao
contrário, acho que as questões colocadas pela história
oral buscam atender a profundas demandas instaladas em
nosso conturbado presente, em especial as que dizem res-
peito à nossa experiência e consciência em relação ao
passado. Trata-se de uma metodologia que possibilita a
criação de fontes para estudos que levem em conta as
experiências e os pontos de vista dos indivíduos. Nesta
exposição, espero chamar a atenção para algumas ques-
tões implicadas na utilização da história de vida conside-
rando a dimensão social presente no trabalho de
rememoração.
Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar que o traba-
lho com depoimentos orais já tem longa tradição em ou-
tras disciplinas, como na sociologia e na antropologia. De
certa forma, se considerarmos apenas o século XX, a his-
tória foi a última disciplina da área das ciências humanas
a incorporar essa metodologia entre seus instrumentos de
pesquisa. 1 Isso não significa que possamos nos apropriar
pura e simplesmente dos procedimentos de trabalho des-
tas áreas de conhecimento, pois as questões que o histori-
ador investiga têm particularidades que acabam orientando
o trabalho com as fontes orais. Simplificando um pouco a
questão, podemos dizer que através dos informantes a
antropologia busca compreender a lógica de funcionamen-
to de uma dada cultura, seja através do estudo das repre-
sentações do grupo estudado, seja através do estudo da
língua. A sociologia, num contexto de insatisfação com
os métodos quantitativos, descobriu no uso da história de
vida uma forma de ampliar o conhecimento sobre as rela-
144 ções sociais, as relações do narrador com seus diferentes
grupos de convívio. Nas palavras de Maria Isaura Pereira
de Queiroz, através do relato de um narrador sobre sua
existência “[...] se delineiam as relações com os membros
1
Devemos lembrar que o movimento de constituição da história como ciência se
fez acompanhar pela rejeição do testemunho e pela ênfase na fonte escrita.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 144 24/1/2005, 11:38
de seu grupo, de sua profissão, de sua camada social, de
sua sociedade global, que cabe ao pesquisador desvendar.
Desta forma, o interesse deste último está em captar algo
que ultrapassa o caráter individual do que é transmitido e
que se insere nas coletividades a que o narrador pertence”
(Queiroz, 1991, p. 6).
Em associação, não podemos deixar de interrogar:
quais seriam o horizonte de preocupações e o interesse
mais geral do historiador em relação à história de vida?
Para além de todas as informações passíveis de serem ob-
tidas num depoimento, da subjetividade revelada, da va-
lorização das experiências vividas, considero que é a pró-
pria rememoração do passado e os usos deste passado na
dinâmica social o ponto mais importante para os historia-
dores. É a experiência do indivíduo com o passado que
precisa ser compreendida, o que implica termos em conta
o trabalho da memória na formação das identidades pes-
soais e sociais. É sob o peso das considerações sobre a
memória e as lembranças que podemos refletir sobre a
especificidade da história de vida no âmbito da pesquisa
histórica. Vamos, a seguir, examinar alguns elementos a
esse respeito, numa tentativa de delinear melhor as possi-
bilidades que se abrem para o historiador na pesquisa com
histórias de vida.
Um autor de grande destaque por suas reflexões
sobre a memória é o sociólogo Maurice Halbwachs, que
viveu entre 1877 e 1945. Na obra A memória coletiva, esse
autor apresenta a memória como um fenômeno social,
examina e discute a reconstrução das lembranças pensan-
do no âmbito das relações sociais e dos grupos de conví-
vio. Sua preocupação é compreender a memória indivi- 145
dual considerando o indivíduo como um ser social, inte-
grado em meios sociais que conformam sua percepção
acerca dos acontecimentos vistos e/ou experimentados.
Questiona se a memória individual pode bastar-se ou se
necessita da memória dos outros como ponto de apoio e
reforço, defendendo a idéia de que é como membros de
grupos que recordamos. Fala em grupos de amigos, sóci-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 145 24/1/2005, 11:38
os, família, ou seja, está pensando em grupos com varia-
dos graus de intimidade e convivência. Na citação que
segue, ressalta a necessidade de pontos de contato entre
as lembranças, pois só posso encontrar apoio externo, isto
é, no relato dos outros, se guardo alguma coisa das expe-
riências compartilhadas. Para o compartilhamento das
recordações, além da convivência com o grupo, é neces-
sário que estas se relacionem e se complementem.
Para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta
que eles nos tragam seu depoimento: é necessário ainda que ela
não tenha cessado de concordar com suas memórias e que haja
bastante pontos de contato entre uma e as outras para que a
lembrança que nos recordam possa ser reconstruída sobre um
fundamento comum. Não é suficiente reconstituir peça por
peça a imagem de um acontecimento do passado para se obter
uma lembrança. É necessário que esta reconstrução se opere a
partir de dados e noções comuns que se encontram tanto no
nosso espírito como no dos outros, porque elas passam incessan-
temente desses para aquele e reciprocamente, o que só é possí-
vel se fizeram e continuam a fazer parte de uma mesma socie-
dade. Somente assim podemos compreender que uma lembran-
ça possa ser ao mesmo tempo reconhecida e reconstruída
(Halbwachs, 1990, p. 34).
O que aparece como fundamental na memória in-
dividual é justamente a dimensão social. O autor ainda
apresenta duas considerações reforçando essas relações
entre a rememoração e o convívio social, as quais ele
mesmo aponta como facilmente aceitas. Nesse sentido,
comenta que um grande número de lembranças reapa-
recem porque nos são recordadas por outros homens e
destaca a pertinência da expressão “memória coletiva”
146 para evocar acontecimentos vividos em grupos
(Halbwachs, 1990, p. 36). Suas preocupações, no en-
tanto, vão além desses casos. Para ele, podemos viver
experiências sozinhos, sem nenhuma testemunha, mas
isso não significa que possamos lembrar desses episódios
como algo só nosso. As impressões que tivemos e que
nos marcaram estão circunscritas no âmbito das relações
que mantivemos, dos grupos que integramos. Sempre
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 146 24/1/2005, 11:38
vivemos nossas experiências em relação com os que nos
cercam, e esses, de algum modo, constituem as referên-
cias para nossa percepção. Noções e imagens que apli-
camos a essas experiências são tomadas do meio social
onde vivemos. É por afirmar o caráter intrinsecamente
social do homem que o autor não pode senão perceber a
memória individual apoiada na memória coletiva. Po-
demos dizer que a convivência e o diálogo são processos
envolvidos neste fenômeno da memória. O afastamento
em relação ao grupo com o qual compartilhamos idéias
ou experiências marca também o esquecimento, bem
como a impossibilidade de reconhecimento e reconstru-
ção das lembranças.
A diferença e a imbricação entre a memória indivi-
dual e memória coletiva aparecem bem caracterizadas em
outra passagem desse autor :
No mais, se a memória coletiva tira sua força e sua duração do
fato de ter por suporte um conjunto de homens, não obstante
eles são indivíduos que se lembram, enquanto membros do
grupo. Dessa massa de lembranças comuns, e que se apóiam
uma sobre a outra, não são as mesmas que aparecerão com
mais intensidade para cada um deles. Diríamos voluntaria-
mente que cada memória individual é um ponto de vista sobre a
memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o
lugar que eu ali ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo
as relações que mantenho com outros meios. Não é de admirar
que do instrumento comum nem todos aproveitem do mesmo
modo. Todavia quando tentamos explicar essa diversidade, vol-
tamos sempre a uma combinação de influências que são, todas,
de natureza social (Halbwachs, 1990, p. 51).
Podemos ressaltar, desta passagem, alguns aspectos
importantes para pensarmos a relação entre memória in- 147
dividual e coletiva. Dentre eles: os indivíduos recordam
como membros de grupos; a memória coletiva tem por
suporte o conjunto das pessoas que integram o grupo; o
instrumento comum é a memória coletiva; a memória in-
dividual é um ponto de vista da memória coletiva; e este
ponto de vista é mutável, dependendo das relações com
outros meios sociais.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 147 24/1/2005, 11:38
A importância do coletivo é destacada em outra
passagem, na qual o autor relaciona a sucessão das lem-
branças com as mudanças nas relações entre os diversos
grupos de convívio. “A sucessão de lembranças, mesmo
daquelas que são mais pessoais, explica-se sempre pelas
mudanças que se produzem em nossas relações com os
diversos meios coletivos, isto é, pelas transformações des-
tes meios, cada um tomado à parte e em seu conjunto”
(Halbwachs, 1990, p. 51).
Em outro momento de suas reflexões, a lembrança
aparece como efeito de uma grande e complexa combi-
nação de influências, reconhecendo, entretanto, que não
conseguimos estabelecer com clareza as origens destas in-
fluências. Este amálgama de influências sem nitidez carac-
teriza as lembranças. “A lembrança é em larga medida
uma reconstrução do passado com a ajuda de dados em-
prestados do presente, e além disso, preparada por outras
reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a ima-
gem de outrora manifestou-se bem alterada” (Halbwachs,
1990, p. 71).
Para o autor, as lembranças são organizadas de duas
maneiras, em torno de uma pessoa ou no âmbito de uma
coletividade, grande ou pequena. Uma vincula-se à vida
pessoal e interior, a outra ao mundo social e exterior.2 Os
indivíduos estão relacionados com ambas, contribuindo
para a formação das duas, enfim participariam dos dois
tipos de memórias, a individual e a coletiva. “A memória
coletiva [...] envolve as memórias individuais, mas não se
confunde com elas” (Halbwachs, 1990, p. 55).
A memória coletiva concerne à convivência e à
148 comunicação entre os membros de uma coletividade. Sua
duração acompanha a existência do grupo. Um indiví-
duo participa de diversos grupos ao longo de sua vida,
2
Fernando Catroga (2001, p 44) fala em termos de memória privada e memória
pública, “sendo difícil não reconhecer que ambas coexistem e se formam em
simultâneo”.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 148 24/1/2005, 11:38
cada um desenvolvendo memórias coletivas que só ao
grupo interessa. Destaco uma passagem em que melhor
aparece definida a memória coletiva. “É uma corrente
de pensamento contínuo, de uma continuidade que nada
tem de artificial, já que retém do passado somente aqui-
lo que ainda está vivo ou capaz de viver na consciência
do grupo que a mantém. Por definição ela não ultrapas-
sa os limites deste grupo” (Halbwachs, 1990, p. 82). O
suporte da memória coletiva é um grupo, limitado no
tempo e no espaço.
Halbwachs tem também a preocupação de argu-
mentar que a memória coletiva não se confunde com a
história. A história é apresentada como um quadro de
acontecimentos amplos e abrangentes, marcados por uma
temporalidade específica, voltada para a compreensão das
mudanças. Para esse autor, fica bem demarcada a distin-
ção, pois a história começa no momento em que se apaga
ou se atenua a memória social.
Será possível captarmos a memória coletiva a par-
tir do ponto de vista individual, ou seja, a partir dos de-
poimentos individuais? O que pode ser uma memória com-
partilhada na era da mídia eletrônica e dos meios de co-
municação de massa? Será pertinente falarmos ainda em
memória coletiva?
Halbwachs é uma referência clássica no que se refe-
re ao tema da memória, suas proposições são utilizadas
como ponto de partida para expressivas reflexões, acom-
panhando o crescente interesse pela memória como cam-
po de investigação.
Outro trabalho que gostaria de comentar é Memó-
ria social: novas perspectivas sobre o passado, do historiador 149
Chris Wickham e do antropólogo James Fentress. Nesse
trabalho, a expressão “memória coletiva” recebe algumas
ressalvas, mas os autores concordam com o papel essenci-
al representado pelos grupos nos fenômenos da memória,
o que explicitam claramente: “Halbwachs tinha por certo
razão ao afirmar que os grupos sociais constroem as suas
próprias imagens do mundo estabelecendo uma versão
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 149 24/1/2005, 11:38
acordada do passado e ao sublinhar que estas versões se
estabelecem graças à comunicação, não por via das recor-
dações pessoais” (Fentress e Wickham, 1992, p. 8).
Dois aspectos chamam a atenção nessas considera-
ções: a construção de uma versão acordada sobre o passa-
do e a comunicação e troca como base deste processo. O
papel da comunicação na construção da memória social é
enfatizado por estes autores. Estão preocupados com a
recordação ou o que definem como “comemoração”, que
é “ação de falar ou escrever sobre as recordações bem como
com a reencenação formal do passado” (Fentress e
Wickham, 1992, p. 8). “A experiência passada recordada
e as imagens partilhadas do passado histórico” é o que
lhes interessa, “pois tem efetiva importância na constitui-
ção de grupos no presente”.
Recordar liga-se a subjetividade, recordamos sob a
forma de emoção, sentimentos ou imagens, por isso eles
criticam o modelo textual usado atualmente para a me-
mória. Para esses autores, o que faz o historiador com um
texto é muito diferente de uma pessoa que tenta recordar.
A memória depende de encadeamentos, elos são condi-
ção para recordar.
Outra proposição dos autores é que devemos con-
ciliar os dois aspectos característicos da memória, o de ser
um sistema de armazenamento e de registro e, ao mesmo
tempo, ser ativa, isto é, poder recuperar as informações e
articulá-las de um modo novo. A ênfase, segundo eles,
era dada à função de armazenagem porque ela era vista
como a base da veracidade das rememorações. Nessa pers-
pectiva, as pessoas seriam portadoras do registro das ex-
150 periências reais, cuja cópia poderia ser ativada pela me-
mória. Eles não concordam com essa proposição, pois a
consideram caudatária de certa concepção de conheci-
mento já superada. Não negam que a memória possa ser
rigorosa e exata, mas a fonte da veracidade não estaria
neste pretenso arquivo armazenado e visitado quando
necessário. Para eles, as distorções, quando existem, são
limitações externas, impostas pela sociedade, e não são
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 150 24/1/2005, 11:38
inerentes ao funcionamento da memória. “O significado
social da memória, a sua estrutura interna e o modo de
transmissão não são afetados pela sua verdade” (Fentress
e Wickham, 1992, p. 10).3
Com relação à questão da verdade, deve-se ressal-
tar o fato de que as rememorações são críveis para os gru-
pos que as estão construindo. Em Halbwachs, a confiança
aumentava na medida da multiplicação dos pontos co-
muns encontrados entre os membros do grupo. Para
Fentress, essa confiança assenta na adequação do passado
em relação ao presente. Citando suas palavras:
A maior parte dessa confiança deriva do fato de experimentar-
mos o presente em relação com o passado. A nossa experiência
do presente fica portanto inscrita na experiência passada. A
memória representa o passado e o presente ligados entre si e
coerentes, neste sentido, um com o outro. [...] Claro que esta
inserção da memória na experiência presente pode também ser
a raiz da sua debilidade como fonte de conhecimento do passa-
do” (Fentress e Wickham, 1992, p. 39).
A articulação passado/presente aparece como res-
ponsável por assegurar a veracidade das rememorações, o
que não significa que a rememoração não possa ser
distorcida, distorção que o autor vinculou, como citamos
antes, a outra articulação que diz respeito ao interior/ex-
terior no âmbito da memória. Essas articulações polares,
juntamente com a questão da qual partiu Halbwachs –
individual/social – expressam toda a complexidade da
memória.
Dessas considerações fica evidente o quanto a me-
mória, ou melhor, o processo da rememoração está firma- 151
do em uma perspectiva centrada na subjetividade, como
uma modalidade interior e privada da experiência do tem-
3
Estamos pensando neste caso não em patologias da memória, mas no seu funci-
onamento normal, onde sobressaem, como já referido por Halbwachs, as nego-
ciações e acomodações em relação às experiências posteriores aos aconteci-
mentos.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 151 24/1/2005, 11:38
po que se constrói a partir da interação entre as pessoas
nos grupos de convivência.
Nesse sentido, trabalhar com histórias de vida pos-
sibilita examinar a significação assumida pelo passado em
termos individuais, mas tendo em conta a inserção e
interação social em diferentes momentos da vida do de-
poente. A tensão entre o indivíduo e os múltiplos cons-
trangimentos sociais pode ser mais bem examinada neste
tipo de trabalho.
A história de vida é apenas uma das formas pelas
quais podemos trabalhar dentro do que se convencionou
chamar de história oral. Essa talvez não seja a mais usada
pelas dificuldades que envolve, inclusive em termos
operacionais, considerando o tempo necessário para a
coleta dos depoimentos e o envolvimento necessário na
realização da transcrição. A pesquisa a partir do recorte
temático tem aparecido com destaque no trabalho dos
historiadores. Trabalhar com uma ou outra forma implica
diferentes procedimentos no que se refere à condução da
entrevista. Alguns pesquisadores tendem a coletar o de-
poimento sob a forma da história de vida, mas o utilizam
conforme os seus objetivos de pesquisa, valendo-se do
conjunto dos depoimentos para melhor analisar e inter-
pretar os aspectos de seu interesse. Nesse caso, a preocu-
pação é mais com o cruzamento entre os depoimentos, os
pontos de confluência em termos da percepção de deter-
minados acontecimentos relatados.
A história de vida é basicamente uma autobiogra-
fia provocada. Em uma definição enciclopédica, autobio-
grafia é “a história de uma pessoa contada por ela mes-
152 ma”. É considerada em termos literários como gênero com-
plexo, periférico e múltiplo, cuja delimitação ainda é
matéria de questionamento. 4 Na tentativa de encontrar-
lhe a especificidade, Philippe Lejeune destaca dois aspec-
4
Nossas considerações sobre a autobiografia estão apoiadas em Jozef (1997) e
Lejeune (1989).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 152 24/1/2005, 11:38
tos fundamentais: o seu caráter documental, pois pode
ser considerada documento no campo dos estudos histó-
ricos ou da análise das civilizações; e o seu caráter
contratual, que remete para a idéia de um contrato de
leitura baseado na identidade entre personagem/narrador/
autor. Para Bella Jozef, outro aspecto característico da
autobiografia é a referência explícita à realidade fora do
texto, a qual pretende informar e a que pode submeter a
uma prova de verificação. “O tema essencial de toda
autobiografia são realidades experimentadas concreta-
mente, em que a realidade externa se modifica pela vida
interior” (Jozef, 1997, p. 219).
Na situação de pesquisa com histórias de vida, o
depoente é convidado a rememorar e a narrar sua vida,
tecendo trajetórias que devem revelar seu mundo, suas
relações, impressões e marcas. Ao contrário do que pen-
samos, nem sempre a narrativa se constrói de modo linear
e ordenado. Segundo Lejeune o discurso da memória é
um labirinto. Para orientar-se, o pesquisador toma como
referência dois eixos coordenadores, o cronológico e o
temático. A perspectiva que um indivíduo tem de sua
própria vida não é unitária, é mais compartimentada, ten-
do cada aspecto da vida a sua construção própria. O pes-
quisador é que tende a impor um calendário, integrando
num antes e num depois os elementos do relato. O eixo
temático se aproxima mais do discurso da memória que
evoca diferentes experiências: de trabalho; de vida fami-
liar; de escola; de relações de amizade; de lazer, entre ou-
tras. É comum uma ordenação cronológica no interior de
cada tema desenvolvido. As repetições aparecem com fre-
qüência e, para Lejeune, são reveladoras dos conflitos da 153
memória. As narrativas podem assumir vários formatos,
fornecendo apenas no exame conjunto dos diversos de-
poimentos um todo mais coerente e inteligível. Isto tam-
bém envolve a qualidade do depoimento e a relação de
confiança e respeito estabelecida com o pesquisador. A
construção da trajetória de vida pelo narrador, embora o
pesquisador possa desaparecer nos trabalhos de edição
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 153 24/1/2005, 11:38
textual, tem por base o diálogo entre ambos, é um ato de
comunicação. Conforme orienta Lejeune, o pesquisador
deve ficar atento à lógica própria do discurso suscitado e
deve usar sua interferência para levar o depoente a me-
lhor explicitá-la.
A passagem do registro oral para a escrita e a utili-
zação e/ou preparação dos depoimentos para publicação
aproximam a história de vida do trabalho do biógrafo. O
pesquisador torna-se efetivamente um mediador e, em-
bora escrevendo dentro de certos limites, pois deve res-
peitar a lógica revelada no depoimento, interfere na mon-
tagem da narrativa. Os dilemas ocasionados pela transcri-
ção revelam a preocupação justamente com o papel re-
presentado pelo pesquisador nessa etapa. De ouvinte pas-
sa a intérprete do testemunho, devendo transformar a “fala
autobiográfica” em um texto. Sobre os procedimentos para
a melhor transcrição não há consenso entre os historiado-
res que trabalham com história oral. Uns defendem que a
transcrição deve manter o máximo de fidelidade ao rela-
to. Outros defendem a necessidade de criar, a partir das
gravações, uma narrativa clara e coerente. Na opinião de
Lejeune: “Transcribir no es una simple operación de có-
pia, más o menos delicada e fastidiosa. Es una recreación
completa. Se intenta inventar una forma que exprese al
mismo tiempo que la emisión del relato, su audición”
(Lejeune, 1989, p. 44). Essa proposta tem a pretensão de
não perder, na organização da narrativa, as marcas da sub-
jetividade presentes no discurso oral. Assim, a entonação,
as interrupções, além das expressões e gestos, das quais
deve ter ainda uma memória o pesquisador/ouvinte na
154 hora de escrever, precisam ser consideradas. Na maioria
das vezes se submete ao depoente a narrativa montada a
partir das entrevistas, para que verifique sua exatidão e
aprove a sua forma.
Entre esses dois procedimentos extremos coloca-se
uma solução intermediária, que é retocar o discurso para
adaptá-lo às regras da comunicação escrita – corrigindo,
pontuando, eliminando vacilações e repetições –, mas
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 154 24/1/2005, 11:38
conservando a lógica do discurso e o ritmo da fala.5
Nas formas de apresentação dos depoimentos, que
estão diretamente relacionadas aos objetivos da pesquisa,
observa-se com mais clareza a mediação do pesquisador.
Muitas vezes, não há o interesse nem o compromisso com
a publicação integral dos depoimentos, e o pesquisador
trabalha decompondo as entrevistas em unidades
temáticas, o que normalmente corresponde a uma primeira
etapa de análise do material, a partir da qual se monta um
índice da entrevista. O relato de vida passa a ser usado
para obter informações que podem ser comparadas e arti-
culadas com unidades temáticas obtidas em outros depo-
imentos. Neste caso, o relato de vida praticamente desa-
parece e apenas serviu para ampliar a compreensão sobre
as percepções do depoente. No caso da publicação inte-
gral dos depoimentos, transformados em narrativas orga-
nizadas como pequenas biografias, é comum a apresenta-
ção de um prefácio com elementos da análise realizada
pelo pesquisador e onde são integradas explicações sobre
o contexto vivido pelos depoentes. Dessa forma, o pes-
quisador prepara e orienta a leitura da narrativa.
Philippe Lejeune ainda aponta outra forma de apre-
sentação que chama de entrevista narrativizada. Nesta, o
pesquisador conta como se desenvolveram o contato e o
relacionamento com o depoente. Expõe um retrato da vida
do depoente, integrando informações e documentos que
recolheu em arquivos, jornais, e usa os discursos autobio-
gráficos na forma de citações. Assim, alternam-se as expli-
cações do pesquisador e a “voz” do depoente. Para este
autor, por mais arranjada que esteja a apresentação, ela tem
a vantagem de separar o pesquisador do depoente ou, em 155
outros termos, o “retrato do auto-retrato”. Outra forma é a
organização temática da história de vida, intercalando ca-
pítulos narrativos e capítulos com interpretação.
5
Segundo Lejeune, este plano de transcrição está já ligado à montagem e não
serve de base para estudo sociolingüístico, nem de poética do texto.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 155 24/1/2005, 11:38
As colocações feitas até aqui são suficientes para
revelar a complexidade que é trabalhar com esses gêneros
de fronteira. No caso da história de vida, estamos entre a
autobiografia e a biografia, talvez tentando criar uma nova
forma de expressão. Para finalizar, assim como as fontes
convencionais, também as fontes orais exigem um traba-
lho de crítica, de análise e de interpretação, bem como o
cruzamento com outros dados e informações. Isso para
qualquer tipo de trabalho, sendo imprescindível ampla
pesquisa anterior à realização das entrevistas.
Referências
CATROGA, F. 2001. Memória e história. In: PESAVENTO, S. (org.). Frontei-
ras do milênio. Porto Alegre,: Ed. Universidade/UFRGS, p. 43-69.
FENTRESS, J. e WICKHAM, C. 1992. Memória social. Lisboa, Ed. Teorema,
278 p.
HALBWACHS, M. 1990. A memória coletiva. São Paulo, Vértice, Editora
Revista dos Tribunais.
JOZEF, B. 1997. (Auto)biografia: os territórios da memória e da história. In:
AGUIAR, F. et al. (orgs.). Gêneros de fronteira. Cruzamentos entre o histórico e o
literário. São Paulo, Xamã, p 217-226.
LEJEUNE, P. 1989. Memória, diálogo y escritura. História y Fuente Oral, Barce-
lona: Universitat de Barcelona Pubs, n. 1 e 2.
QUEIROZ, M.I.P. 1991. Variações sobre a técnica de gravador no registro da
informação viva. São Paulo, T A Queiroz Editor, 172 p.
156
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 156 24/1/2005, 11:38
O que a Micro-História tem a nos
dizer sobre o regional e o local?
Núncia Santoro de Constantino1
Resumo:
Buscando a relação entre a Micro-História e a His-
tória Regional ou Local, organizou-se corpus teórico e des-
tacaram-se unidades para Análise de Conteúdo que foram
organizadas em categorias: História Regional e Local,
Método Qualitativo, Micro-História, Interdisciplinaridade
e Estranhamento. No presente texto expõem-se tais cate-
gorias, exemplificando com as diferentes etapas de uma
pesquisa em desenvolvimento sobre o grupo valdense, entre
os imigrantes na região colonial italiana do Rio Grande
do Sul. Conclui-se reconhecendo as possibilidades dos
indícios na reconstrução histórica da região ou da locali-
dade, desde que haja uma abordagem metodológica
interdisciplinar.
Palavras-chave: história regional e local, método qualitativo, 157
micro-história, interdisciplinaridade, estranhamento.
Abstract:
Searching the relationship between Microhistory and
1
Doutora em História Social, docente no Programa de Pós-Graduação da PUCRS.
HISTÓRIA
HISTÓRIAUNISINOS
UNISINOS Vol.
Vol.88 Nº
Nº10
10 JUL/DEZ
JUL/DEZ p. 157-178
2004
Historia10.p65 157 24/1/2005, 11:38
Regional or Local History, a theoretical corpus was
organized and units for Content Analysis were emphasized
and organized in categories: Regional and Local History,
Qualitative Method, Microhistory, Interdisciplinarity and
Strangeness. In the present text explanation on this
categories is given, exemplifying through the different
stages of a survey still in progress on the Valdense group,
among the immigrants in the Italian colonial region of
Rio Grande do Sul. It was concluded, recognizing the
possibilities of the indiciums in historical reconstruction
of the region or location, as long as there is an
interdisciplinary methodological approach.
Key words: local and regional history, qualitative method,
microhistory, interdisciplinarity, strangeness.
É justo começar agradecendo aos organizadores des-
te Fórum, especialmente ao Prof. Dr. Cláudio Elmir, que
formalizou o convite relativo à minha participação nesta
mesa. É justo agradecer aos presentes, às colegas da mesa,
Professoras Regina Weber e Sandra Pesavento, cujos estu-
dos têm valor extraordinário para o conhecimento do nosso
passado.
Retornando aos organizadores deste Fórum, desejo
manifestar que propiciaram repensar um assunto que ve-
nho desenvolvendo há alguns anos no Programa de Pós-
Graduação da PUCRS; possibilitaram sistematizar, esta-
belecer novas relações, enfim, registrar algumas inferências
e intuições que pretendo apresentar no tempo à minha
disposição. Foi possível fazer isto porque empreguei a
158 metodologia de análise de conteúdo no corpus documental
que organizei sobre o assunto, a partir de estudos que ve-
nho publicando há alguns anos. Fiz a chamada leitura flu-
tuante de todo o material, destaquei unidades de análise,
criei categorias. Descronstruí e reconstruí, operações fami-
liares aos historiadores (Constantino, 2002).
Expondo o assunto, acredito que é importante des-
tacar as categorias que resultaram da minha desconstrução,
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 158 24/1/2005, 11:38
tecendo algumas considerações sobre as mesmas, que são:
História Regional e Local, Método Qualitativo, Micro-Histó-
ria, Interdisciplinaridade e Estranhamento. No segundo mo-
mento, procuro responder a pergunta proposta, recons-
truindo um texto, elaborando uma pequena síntese que
sempre precisa ser entendida como um processo criativo,
original.
Inicio, portanto, pela categoria História Regional e
Local.
Depois da Primeira Guerra, acelerou-se na Europa
Ocidental uma tendência para o esquecimento daquela
História calcada nos grandes vultos. Demorou um pouco
mais para acontecer uma fuga das grandes massas sem ros-
to. Vultos ou massas haviam sido incapazes de dar conta
dos problemas que afligiram as sociedades no período do
conflito; perderam credibilidade como principais forças
motrizes do social. O homens desejaram uma História que
narrasse o seu próprio passado, que lhes pertencesse, que
estivesse mais próxima deles, uma vez que, nos piores
momentos, a sobrevivência dependera predominantemen-
te da proximidade vicinal ou parental, quando não mais
era encontrado o líder ou o Estado.
A História Local ou Regional pode ser um prolon-
gamento do nosso grupo familiar, de nós mesmos. Reflete
uma necessidade de conhecer-se e narrar-se; valoriza re-
des familiares, lembranças da infância, genealogias, tradi-
ções orais; detém-se no léxico familiar, nas palavras em-
pregadas no cotidiano, ou nos documentos guardados em
velhos baús, como afirma Ariès (1988, p. 272-3).
A Academia não apenas aceitou a história local,
mas até mesmo incentivou os homens para que entrassem 159
em contato com uma História que narrasse o seu próprio
passado. Uma nova forma de produzir História conquis-
tava espaço, difundida a partir do grupo dos Annales.
Depois da Segunda Guerra, esta tendência encon-
trou-se ainda mais fortalecida. Grandes unidades políti-
cas haviam sido pulverizadas, estados sumiram de novo;
as pequenas localidades reapareceram na cena histórica,
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 159 24/1/2005, 11:38
sobretudo na França sob ocupação alemã. Narrar a His-
tória dessas comunidades era uma questão de sobrevi-
vência, de reconstrução de uma identidade que parecia
perdida.
Assim, o pensamento dos historiadores também di-
rigiu-se para o local, para o regional. Passaram a conside-
rar elementos do cotidiano como indicadores de uma re-
alidade histórica mais ampla. Encontraram uma rede de
conhecimentos que não mais desprezaram; desejaram en-
tender as aldeias, que ficaram sendo definidas como luga-
res ou espaços com significado.
A mudança na perspectiva, ou a substituição do
telescópio pelo microscópio, na feliz e conhecida metáfo-
ra de Peter Burke, foi auxiliada pelo desenvolvimento da
aprendizagem e da lingüística no campo da psicologia.
Avanços na teoria da comunicação e na lingüística per-
mitiram entender melhor, ler em profundidade os docu-
mentos históricos. Quanto à psicologia, ficou esclarecido
que há estímulo à aprendizagem quando o ponto de parti-
da é o conhecido, principalmente pela divulgação dos
estudos de Piaget.
Tratando-se de História, o interesse manifestado pelo
passado incide mais facilmente sobre os antecedentes da-
quilo que se conhece ou do grupo a que se pertence. É
uma História que define paisagens, tornando-as mais fa-
miliares, que está presa ao solo, à maneira secular de vi-
ver, por vezes interrompida mas sempre renovada. Uma
História que se concretiza em monumentos, vestígios, ru-
ínas, logo ali, depois da esquina.
160 Continuo produzindo inferências. A maior parte da antiga co-
lônia Caxias está na Encosta Superior do Nordeste, cujos solos
são pedregosos, ácidos, com derrames de arenito, entre os vales
do rio das Antas e do rio Caí. As áreas mais elevadas foram
cobertas pela araucária, e uma das primeiras atividades dos
colonos foi a extração de madeira, ocasionando amplo
desmatamento. A demarcação de lotes começou na região de
Forqueta, lotes ocupados, entre 1875 e 1885, por colonos ita-
lianos, em mais de 70%. A grande maioria era constituída por
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 160 24/1/2005, 11:38
agricultores; mas os que estavam estabelecidos na sede Dante,
em 1884, exerciam ofícios característicos das zonas urbanas.
Traço característico da vida colonial foi a religiosidade, expres-
sa na capela como centro comunitário, no papel de liderança do
clero, nas procissões e festas religiosas, na reunião vespertina –
o filó, para rezar o terço.
A História Local e a História Regional devem par-
tir de um estudo da relação entre o homem e o espaço
habitado em que vive. Daí a fundamental importância do
conhecimento geográfico, para compreender esse espaço
e a distribuição dos homens à sua superfície. Segundo
Mattoso (1997, p.169-70), somente a partir do conheci-
mento geográfico será possível considerar os poderes exer-
cidos sobre o espaço e a produção cultural que ali se de-
senvolve em todas as suas modalidades, assim como exa-
minar o problema da periodização e da diacronia.
No entanto, na prática da reconstrução histórica, seja
regional, seja local, há uma freqüente dificuldade para o
historiador. Conjuntos arquivístiscos amplos e devidamen-
te classificados são pouco comuns no Brasil e no Rio Gran-
de do Sul. Tratando-se de realidades locais, a viabilidade
quase sempre está no método qualitativo, a segunda catego-
ria que destaco, relativa ao problema em discussão.
Mas, antes de refletir sobre a mesma, algumas bre-
ves considerações em torno do método são necessárias.
Sabe-se que a física mecanicista cartesiana foi a base
para o desenvolvimento do pensamento de Galileu e
Newton. O pensamento de Descartes desencadeou uma
escola de pensamento histórico, durante a segunda meta-
de do século XVII, baseada no ceticismo sistemático e no
reconhecimento radical de princípios críticos. Para que 161
uma fonte escrita fosse aceita como testemunho, precisa-
ria ser submetida a um processo crítico, fundamentado,
pelo menos, em três regras metodológicas: - nenhuma fonte
deveria induzir-nos a acreditar naquilo que sabemos não
poder ter acontecido; - as diversas fontes deveriam ser
confrontadas e harmonizadas; - as fontes escritas deveri-
am ser comprovadas através de diferentes fontes. Trata-se
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 161 24/1/2005, 11:38
da “historiografia cartesiana”, na expressão cunhada por
Collingwood. (s.d., p. 105), que só admite a possibilidade
de investigação nas fontes plurais. A física de Galileu, por
sua vez, reforça o caminho traçado ao negar valor cientí-
fico ao que é individual.
Apesar de Vico, a concepção do método histórico
trilhou durante muito tempo o caminho traçado por Des-
cartes. Vico é considerado um dos grandes pensadores da
Ilustração, e sua obra de maior importância foi Scienza
nuova, publicada em três redações sucessivas, entre 1725
e 1734, mas efetivamente reconhecida um século mais
tarde, através de tradução realizada por Michelet, em 1827.
Vico foi o primeiro a atacar Descartes, cuja obra
fora aceita sem controvérsias, por quase um século. Alertou
para o perigo representado pela aceitação inconteste das
idéias cartesianas e, contra o dogma do racionalismo, afir-
mou que a validade do conhecimento só poderia ser de-
monstrada através do seu desenvolvimento histórico, do
conhecimento historicizado (Vico, 1994).
Exemplificando a originalidade de Vico, Croce des-
taca o fato de ele ter criticado e superado a fórmula
cartesiana da evidência ou do saber imediato que era cons-
ciência e não ciência (Croce, 1993).
Em artigo publicado há pouco tempo, registrei que,
para Vico, sendo a natureza criada por Deus, tornava-se
inacessível ao conhecimento humano; a cultura só pode-
ria ser compreendida quando historicizada, visto que cada
época elabora respostas às suas necessidades e problemas.
Vico comparou a História com o largo processo que per-
mite a passagem da animalidade à civilização, perceben-
162 do que a humanidade, como o indivíduo, atravessa uma
série de idades, cuja sucessão não é linear nem cíclica, mas
espiral, esboçando assim o pensamento dialético. Ade-
mais, preconizou uma nova consciência da História, que
devolveria ao homem a responsabilidade de criação da
própria humanidade e a conseqüente possibilidade de li-
bertação, sobretudo do mito. Para Vico, a História como
abstração ou como cega causalidade é inútil, chega a ser
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 162 24/1/2005, 11:38
nociva quando pensada como rígida lei. Discorrendo so-
bre lingüística, mitologia comparada e destacando o pa-
pel central da História, que define a partir de conceito
então revolucionário, Vico destaca o princípio da unida-
de do saber e inaugura o discurso fundador das Ciências
Sociais, assinalando que a verdade não será encontrada
nas massas, mas nos indivíduos, cuja razão fundamenta
aquela razão universal (Constantino, 2000a).
Na trilha aberta por Vico transitaram muitos histo-
riadores até o século XIX, apesar do reinado de Ranke:
Michelet, Burckhardt, Tocqueville e até mesmo Karl Max,
confesso admirador do pensador napolitano. Mas foi o
movimento dos Annales que desencadeou um verdadeiro
choque epistemológico, representado pela diversificação
dos objetos de estudo, pela ênfase na análise das estrutu-
ras, permanências, durações ou inércias do processo his-
tórico, que somaram para a perda de prestígio do humilde
relato que reinara absoluto por séculos. Abandonou-se a
simples história-narração, as verdades definitivas transfor-
maram-se em sinônimo de quimeras, propositalmente uti-
lizando uma palavra signo do romantismo. A História passa
a ser entendida como ciência inacabada e em permanen-
te elaboração; é a história-problema.
Outra inferência: na zona central de Caxias, defronte ao Hos-
pital Nossa Senhora de Pompéia, há uma antiga igreja protes-
tante. Os metodistas construíram o templo nos primeiros anos
do século XX, há quase cem anos portanto, nos primórdios da
colônia. Como pode haver uma igreja metodista tão antiga em
Caxias?
Cardoso e Brignoli (1979, p. 42-43) acreditam na 163
incorporação progressiva da História ao campo das ciên-
cias nomotéticas, definidas por Piaget como aquelas que
procuram descobrir leis, ao lado da lingüística, economia,
sociologia, demografia, antropologia e psicologia. Mas tais
leis precisam ser discutidas no âmbito das ciências huma-
nas e sociais, com seu traço de pluralidade, sem o caráter
inexorável das leis físicas. São leis que compreendem “[...]
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 163 24/1/2005, 11:38
relações quantitativas expressáveis por meio de funções
matemáticas; outras vezes fatos gerais ou análises estrutu-
rais, apenas fixáveis pela linguagem formalizada da lógica
[...]”.
A última citação sinaliza dois caminhos para a in-
vestigação histórica: o método quantitativo e o qualitati-
vo. O primeiro, utilizado desde o final do século XIX, atu-
alizado semanalmente em sua aplicação, pelos avanços
da tecnologia em geral e da informática em particular.
Mas um método que revela limites intransponíveis quan-
do o pesquisador depara com omissões ou imprecisões das
fontes, ou quando pretende investigar em torno de gente
comum, categoria praticamente ignorada pelos critérios
oficiais que nortearam as séries documentais produzidas
no passado.
Nas últimas décadas, portanto, surge uma reação às
metodologias quantitativas como panacéia, e a aproxi-
mação qualitativa desenvolve-se. Segundo Minayo (1998,
p. 202-3), contestou-se a eficiência das minúcias de uma
análise de freqüência, como prova de objetividade e de
cientificidade; pretendeu-se ir além da descrição exata dos
conteúdos manifestos em mensagens e buscou-se a
inferência, a interpretação mais profunda. Na análise quan-
titativa, importa a freqüência com que surgem certas ca-
racterísticas na análise do fenômeno; na abordagem qua-
litativa, a presença ou ausência de característica ou ca-
racterísticas é o que precisa ser levado em consideração.
A pequena cidade de Torre Pellice, no Piemonte, recebe muita
gente em agosto de 2001, como sempre acontece durante o
164 verão. Numerosos cultos são oficiados diariamente, a hospedaria
encontra-se lotada por visitantes, principalmente uruguaios. A
Biblioteca e o Arquivo da Società di Studi Valdesi tornam-se
pequenos para atender a demanda estiva. Sou apresentada à dire-
tora do Arquivo, Doutora Gabriella Ballesio, pelo colega Mauro
Reginato, professor da Faculdade de Economia da Universidade
de Turim. Logo tenho nas mãos alguns documentos sobre
valdenses no Brasil. O Dr. Dario Varese, cardiologista e profes-
sor aposentado da Faculdade de Medicina, aparece no arquivo
para conversar comigo, pois disseram-lhe que venho do sul do
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 164 24/1/2005, 11:38
Brasil. Quer saber sobre Giovanni David Danna, emigrado de
Lucerna San Giovanni, que enviou notícias em 1890 e 1906, de
S. João do Monte Negro e de Porto Pereira, respectivamente.
Arquivo cópia do texto das duas cartas.
A discussão sobre o método também se desenvol-
veu entre os historiadores nas últimas décadas. Se, nos
anos cinqüenta e sessenta, a maioria dos historiadores
empregou métodos quantitativos, concentrando a análise
sobre tendências gerais, nos anos setenta alguns estudio-
sos centraram a discussão nas possibilidades do método
qualitativo, como Le Roy Ladurie e Carlo Ginzburg. Nes-
te estágio da discussão alcançamos a micro-história.
Ginzburg desenvolve os fundamentos do método
indiciário, demonstrando sintomas ou indícios que funci-
onam como chaves para o conhecimento de realidades;
minúsculas partes singulares tradicionalmente menospre-
zadas por predomínio de hábitos ou por reflexos condici-
onados, enfim, pelo predomínio do inconsciente.
O relato retorna, mas com ênfase na apreensão so-
ciológica e psicológica do sucedido no passado, que de-
verá ser progressivamente desmembrado, dissecado e in-
tegrado em estrutura social ou cultural.
O método evoluiu consideravelmente, fazendo fren-
te à amplitude dos objetos de investigação, característica
da História na segunda metade do século passado. Foi
então possível atender à “[...] reivindicação do individu-
al, do subjetivo, do simbólico como dimensões necessári-
as e legítimas da análise histórica” (Cardoso e Vainfas,
1997, p. 22-3).
No final do século XIX afirmava-se o paradigma
indiciário nas ciências humanas, baseado na semiótica. 165
Muitas disciplinas desenvolviam-se na base da decifração
dos sinais; eram as “disciplinas indiciárias”, na expressão
de Ginzburg, como a filologia ou a medicina. Para ele,
trata-se de disciplinas qualitativas na essência, que têm
como objeto casos únicos, situações individuais, com uma
margem de aleatoriedade impossível de eliminar. Entre
essas disciplinas está a História, uma ciência social sui
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 165 24/1/2005, 11:38
generis, irremediavelmente ligada ao concreto. Mesmo que
o historiador não possa referir-se, explícita ou implicita-
mente, a uma série de fenômenos comparáveis, a sua es-
tratégia cognoscitiva, os seus códigos expressivos acabam
sempre sendo individualizantes, ainda que o indivíduo seja
um grupo social ou uma sociedade inteira. Assim, o co-
nhecimento histórico é como aquele do médico, indireto,
indiciário, conjetural. Os problemas encontrados na me-
dicina e descritos por Ginzburg sugerem afinidades com o
método histórico. Em primeiro lugar, pela questão da
quantificação; é possível catalogar a doença, mas essa se
apresenta em cada indivíduo de modo diverso. Indícios
consentem decifrar a realidade, podem revelar a visão de
mundo de sociedades ou grupos sociais. D’Autilia lembra
que Ginzburg menciona o rigor elástico do paradigma
indiciário, em que são levados em conta as intuições, os
golpes de vista, entendidos como recapitulações fulmi-
nantes de processos racionais (D’Autilia, 2001, p. 4-7).
Mais inferências realizo, lembrando a carta encontrada no ar-
quivo, enviada do Brasil e publicada no jornal Le Témoin-Echo
des Vallés Vaudoises, em 20 de junho de 1893.
Os remetentes iniciam: “Aos Cristãos da Itália, principalmen-
te aos Valdenses do Piemonte, dos seus irmãos Valdenses do
Brasil”; logo enviam saudações afetuosas e pedem aos “ irmãos
piemonteses” que os recomendassem a Deus nas preces. Ape-
nas com o objetivo de caracterizar a fonte, registro que os reme-
tentes afirmam serem muitos e estarem “perdidos nas flores-
tas”. Declaram-se abençoados pelo Senhor porque cultivam
um solo que lhes pertence, possuem uma igreja e um cemité-
rio. Entre eles há um Pastor e trinta crianças que freqüentam a
escola. São casados com mulheres evangélicas ou convertidas,
têm grandes famílias, em média com oito ou dez filhos. Esten-
166 dem uma saudação “[...] a toda a Igreja de Cristo na Itália”.
Assinam: Etienne Beux,seu irmão Barthélemy e a mulher des-
te Dominique; Jacques Peyrot e sua mãe Catherine. No docu-
mento há algumas anotações manuscritas, em francês, expli-
cando que a carta fora remetida de“[...] uma pequena cidade da
província de Porto Alegre (Brasil), Forquetta”.
Organizo meu corpus documental acrescentando as duas cartas
enviadas por Giovanni Danna. Na primeira, de julho de 1890,
descreve a viagem para o Brasil e o percurso do Rio de Janeiro
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 166 24/1/2005, 11:38
a Montenegro, na companhia de um grupo de valdenses. Expli-
ca as condições de vida e de trabalho encontradas e estimula a
vinda de outros valdenses para o Rio Grande do Sul. Despede-
se recomendando ao destinatário que dê sempre as costas a todos
os jesuítas. A outra carta, de 1906, narra sua vida na região de
Montenegro durante os desesseis anos em que esteve ausente
de Turim. Aponta seus sucessos financeiros, que resultaram
na compra de algumas propriedades que deveria legar aos filhos,
pois constituiu família no Brasil. Renova a sugestão para que
seus conterrâneos venham para o Brasil.
Em 1976, publicando Il formaggio e i vermi, Ginzburg
adota o conceito de “cultura popular”, em formulação ori-
ginal. Sua obra exemplifica tendências atuais, assim como
acontece com a obra de Chartier, ainda que em modelo
diferente. O primeiro propõe decifrar indícios e, valendo-
se da intuição e da erudição, pretende alcançar o geral a
partir do particular. Para Ginzburg, a História não é ciência
abstrata, dedutiva, mas uma ciência do particular.
Quais sejam as diferenças, os historiadores lembra-
dos como exemplos de tendências do atual debate teóri-
co-metodológico procuram descobrir a realidade do que
aconteceu, sem buscar o testemunho do passado de modo
seletivo ou dogmático; são conscientes de que a narrativa
deste passado será sempre fragmentária e que será objeto
de discussão e revisão; são historiadores representativos
também porque consideram que qualquer homem possa
ser sujeito da História e porque procuram manter o diálo-
go interdisciplinar. Mais uma expressão precisa ser aqui
grifada: interdisciplinaridade.
Hoje continuam a cair os antigos muros que deli-
mitavam os campos dos saberes, barreiras que ilhavam
disciplinas, assim chamadas para serem disciplinadas. Além 167
da geografia, da sociologia e da antropologia, também a
lingüística e a psicanálise passaram finalmente a preocu-
par os historiadores. Com o surgimento de diferentes ci-
ências sociais no final do século XIX, ampliou-se a discus-
são por razões teóricas ou por questões de corporativismo,
mas os historiadores por longo tempo permaneceriam ina-
baláveis diante de limites rígidos.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 167 24/1/2005, 11:38
Tanto Febvre quanto Bloch desejaram alcançar ou-
tras áreas do conhecimento; ambos eram interessados em
lingüística e nos estudos antropológicos de Lévy-Bruhl. Mas,
enquanto Febvre concentrava-se na geografia e na psicolo-
gia, Bloch aproximava-se da sociologia de Durkheim e dos
estudos de Halbwachs sobre a estrutura social da memória.
Com a morte de Bloch, Febvre lidera a historiografia fran-
cesa, assegurando a cooperação interdisciplinar que confe-
riu à História uma posição hegemônica entre as Ciências
Sociais, como escreve Burke (1995, p. 27).
Quanto à psicanálise, algumas considerações preci-
sam ser feitas, e a autoridade de Peter Gay é evocada.
Lembra o autor que Erich Auerbach, em Mimesis, apon-
tou o caminho que poderia conduzir o historiador da
filologia à sociologia. Analisando a visão de mundo de
Tácito, provou que a estilística pode capturar uma presa
arisca como as percepções sociais. Pois Tácito, discorren-
do sobre a rebelião, colocou na boca de um dos amotina-
dos os recursos retóricos correntes entre os oradores ro-
manos do seu tempo. De tais hábitos lingüísticos Auerbach
infere que Tácito era cego às pressões sociais e econômi-
cas que borbulhavam sob a superfície dos acontecimen-
tos que procurava narrar. Assim, o autor defende que um
estudo do estilo pode oferecer instrumento de diagnósti-
co para o mundo psicológico, social e cultural do histori-
ador (Gay, 1990, p. 27).
Mas a relação de historiadores com a psicanálise não
é esgotada na análise de texto dos que o precederam, na
escrita da História. Michel de Certeau oferece importan-
tes considerações sobre o assunto.
168 Ele afirma que a historiografia ocidental tradicio-
nalmente lutou contra a ficção. Essa luta contra a
fabulação, contra os mitos e lendas da memória coleti-
va, acabou criando uma distância com relação à língua
e às crenças de gente comum (De Certeau, 1998, p. 51).
Em outra perspectiva, o mesmo autor recorda que a psi-
canálise se articula sobre um processo que constitui o
ponto central do descobrimento freudiano, isto é, o re-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 168 24/1/2005, 11:38
torno do rechaçado, do anteriormente repelido. Este
mecanismo coloca em jogo uma concepção do tempo e
da memória. Se o passado que fez parte de um momento
decisivo, no curso de uma crise, foi rechaçado, acaba
regressando sub-repticiamente ao presente de onde foi
excluído. Um exemplo de que Freud gostava, lembra
De Certeau, representa esta volta-regresso: depois de
haver sido assassinado, o pai de Hamlet retorna em cena
diferente, como fantasma, quando então se converte na
lei que seu filho obedece. O morto habita o vivo – re-
morde, morde de novo, tortura, atormenta. Também a
História é canibal, e a memória se converte em campo
de operações contrárias. De um lado há o esquecimen-
to, que não é passividade ou perda, mas uma ação con-
tra o passado; de outro lado, a marca da recordação, o
regresso do esquecido, uma ação do passado disfarçan-
do-se para retornar (De Certeau, 1998, p. 77).
De Certeau ainda demonstra que psicanálise e
historiografia têm diferentes maneiras de distribuir o espa-
ço da memória; pensam de maneira diferente a relação do
presente com o passado. A psicanálise reconhece um no
outro; a História coloca um ao lado do outro. Mas ambas
buscam princípios e critérios para compreender as dife-
renças ou assegurar as continuidades entre a organização
do atual e das configurações antigas; dar valor explicativo
ao passado e voltar ao presente capaz de explicar o passa-
do; voltar a trazer as representações de ontem e as de hoje
às suas condições de produção; elaborar maneiras de pen-
sar para superar a violência; definir e construir um relato
que é, nas duas disciplinas, a forma privilegiada que se dá
ao discurso da elucidação. Os cruzamentos e os debates 169
das duas estratégias, desde Freud, delimitam as possibili-
dades e os limites de renovação que a psicanálise oferece
à historiografia (De Certeau, 1998, p. 78-79).
No pobre corpus documental sobre os valdenses, na região co-
lonial italiana, utilizo a metodologia de análise de conteúdo.
Desenvolvo esforço no sentido de ler nas entrelinhas. A inves-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 169 24/1/2005, 11:38
tigação histórica prossegue em bibliografia pertinente a diferen-
tes temas: emigração do Piemonte, movimentos heréticos na
região setentrional italiana, evolução da heresia valdense e re-
pressão, teologia e estrutura da igreja valdense, protestantismo
e minorias religiosas evangélicas, Ressurgimento, Unificação
Italiana, liberalismo e anticlericalismo. O binômio emigração/
imigração italiana esteve novamente em foco, e a questão da
colonização, empreendida por particulares na região, foi reto-
mada. Tornou-se ainda necessário aprofundar o conhecimento
empírico da localidade de Montenegro no período, em especial
sobre a atividade econômica na virada para o século XX.
A metodologia de Análise de Conteúdo foi desenvolvida a partir
da análise de enunciação, nos níveis de aproximação da análise
lógica e da análise de elementos formais atípicos. As cartas
foram então estudadas em si mesmas, como totalidades organi-
zadas e singulares. A seguir escandiram-se os textos, oração
por oração, e a observação da sucessão de proposições colocou
em evidência relações e formas de raciocínio, além de aspectos
estilísticos relacionados à sobriedade e às litanias, que fornecem
indícios à interpretação. Nesta interpretação também foram
observados os elementos atípicos, como recorrências, com base
nos conceitos freudianos. O exercício desenvolveu-se em vári-
as seções de estudo, com o auxílio de colegas especialistas em
psicanálise, lingüística e sociologia do conhecimento.
São pertinentes por sintetizadoras algumas palavras
de Gay, comentando a influência de Freud na obra de E. R.
Dodds, historiador que produziu estudo considerado ex-
cepcional: The greeks and the irrational, publicado em 1951
e, para aquele autor, “[…] um modelo de como pode ser
uma história psicanalítica”. Perguntando a Dodds, um pouco
antes de sua morte em 1979, se pretendia escrever sobre a
importância de Freud em sua obra, respondeu a Gay que o
pensamento freudiano muito o havia ajudado a compreen-
170 der a si mesmo e um pouco mais às outras pessoas (Gay,
1989, p. 49). A psicanálise, como um sistema de idéias, é
por natureza próxima da História e de grande valor pode
ser sua utilização interdisciplinar por historiadores.
Os estudos sobre a estrutura social da memória,
desenvolvidos por Halbwachs, também constituem efici-
ente ferramenta para a História, na perspectiva inter-
disciplinar.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 170 24/1/2005, 11:38
Bergson (1990) fizera relação entre a memória e o
subjetivo-o espírito, entre a percepção e a matéria; para
Halbwachs a memória pura deixou de existir, o trabalho
da memória é sempre construído no tempo presente. Aqui-
lo que Bergson afirmava ser trazido pela percepção pura e
simples, em Halbwachs passou a representar o resultado
de um trabalho consciente de apreensão do passado. As-
sim, a pessoa recorda influenciada pelo fator social, que
organiza e formata o pensamento.
Desejo assinalar alguns aspectos fundamentais da
reflexão de Halbwachs (1976): - há superioridade do so-
cial sobre o individual, isto é, quadros sociais emolduram
as memórias individuais; - a memória social é construída
a partir da memória coletiva; - a memória coletiva está
localizada em determinado espaço onde se forma e se trans-
forma; as memórias individuais, geradas por imagens, pas-
sam a fazer sentido quando são conectadas com imagens
compartilhadas. Mas há também um conceito de memória
pública, envolvendo mecanismos de propagação de natu-
reza diversa, como a publicidade, memória concebida,
coletivizada e constantemente reforçada pelos meios de
comunicação (Schwartz, 1996, p. 908-927).
É conhecida a posição preponderante da Igreja Católica no
movimento emigratório. Se era grande o prestígio do clero na
Itália do norte, com certeza ampliou-se nas colônias rurais do
Rio Grande do Sul, onde exerceu também um papel assistencial.
Na continuidade de um forte movimento evangelizador e de um
indiscutível poder do clero, exercido principalmente no púlpito
e através da imprensa regional, impôs-se a chamada historiografia
franciscana, que teceu uma narrativa da colonização caracteri-
zada pelo acento na religiosidade, melhor dizendo no catolicis- 171
mo, ignoradas as lojas maçônicas e a evidência das práticas
protestantes. Uma memória pública, homogeneizada, recrian-
do determinados elementos do passado, estilizando este passa-
do, para que se transformasse em memória facilmente
assimilável. Concebida e constantemente reforçada pelos mei-
os de comunicação, a memória pública correu sempre paralela
à memória individual, quando pretendeu-se lembrar o que acon-
teceu nas colônias. A estilização do passado está relacionada ao
aspecto de funcionalidade que assume a memória pública; há
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 171 24/1/2005, 11:38
uma estreita relação entre memória e produção de memórias ou
esquecimentos, tema recorrente na historiografia atual.
A compreensão da memória coletiva é fundamen-
tal na sociologia de Halwachs (1990) e consiste em me-
mória vivida não necessariamente pelo indivíduo, mas na
significação compartilhada por um determinado grupo.
O caráter espontâneo da memória é excepcional. Lem-
brar é refazer, reconstruir as experiências do passado com
as idéias do presente. Tarefa de historiador, cuja atitude
no presente se caracteriza pela busca de correlações, no
estreitamento de acordos e de trocas com outras áreas do
conhecimento. Em outras palavras, na busca de novas
chaves que permitam melhor interpretar.
Há algumas pessoas que se dispõem a falar. Desejo e preciso
que falem, para fazer com que outros saibam o que ficaria
soterrado. Seus depoimentos favorecem a compreensão e
exemplificam o fenômeno imigração/colonização, reforçando a
idéia das possibilidades apontadas pelo paradigma indiciário na
investigação histórica e na compreensão da sociedade. A narra-
tiva desenvolvida por descendentes de imigrantes italianos nas
colônias fornece fragmentos de contextos deixados para trás.
Pretendi estimular e acompanhar um momento de pausa para a
reconstrução do passado de gente que pretendeu construir uma
identidade com diferentes códigos de referência. Acredito que,
para os depoentes, ficou assegurado o direito de dar um sentido
ao que passou. Desejou-se poder e saber ouvir. Dados não
foram censurados à medida que emergiam. Assim, admitiu-se
o afloramento de outros dados e o conseqüente surgimento de
novas intuições. A presença de estranhado pesquisador criou
um momento emergente, inexistente no cotidiano: Enzo
Ceccon, Yolanda Canini, Selma Brambilla, Eolinda Denicol
puderam contar algo do que aconteceu com aqueles protestan-
172
tes oriúndos do Piemonte no passado das colônias, desobstruindo
caminhos difíceis da memória.
Terminada a inferência, outra palavra será grafada
em seguida. Refere-se ao conceito ginzburguiano de
straniamento, que podemos traduzir como distanciamento
ou estranhamento. Conceito que é amplamente dissecado
ou desconstruído na obra Occhiacci de Legno: nove riflessioni
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 172 24/1/2005, 11:38
sulla distanza (Ginzbug, 1998), que resenhei na revista de
Estudos Ibero-Americanos (Constantino, 2000b)
O título do livro faz referência à pergunta formula-
da por Collodi, em Pinocchio, conforme epígrafe:
“Occhiacci di legno, perché mi guardate?” Entende-se que
ameaçadores olhos, talhados em carranca de madeira, fi-
xam o interlocutor. Como subtítulo, ao mesmo tempo li-
teral e metafórico, anunciam-se nove reflexões sobre a
distância. O eixo teórico, portanto, privilegia o
straniamento.
No prefácio, Ginzburg afirma que a obra resulta de
sua experiência docente em Los Angeles, desenvolvida
nos últimos anos. Apresenta ensaios escritos entre 1988 e
1998, influenciados pela atividade na UCLA. Reconhe-
ce seus alunos como cultural e etnicamente diferentes entre
si, além de apresentarem formação acadêmica muito dife-
rente da sua. Também reconhece que tais circunstâncias
foram capazes de estimular a fecundidade intelectual, so-
bretudo pelo distanciamento.
A coletânea inicia pelo texto intitulado Straniamento,
seguido da expressão “pré-história de um procedimento
literário”. De início, o autor comenta reflexões sobre psi-
cologia, escritas por Viktor Skolovskij, em 1917. O críti-
co literário russo registrou que atos humanos habituais
tornam-se automáticos, derivados do inconsciente.
Skolovskij também ofereceu exemplos de distanciamento
a partir de Tolstoi, representados por personagens que são
comentados por Ginzburg, como o cavalo Kholstomer,
que, por ser animal, é capaz de detectar elementos espan-
tosamente estranhos ou distantes, privados de lógica, com
os quais os homens já se habituaram. 173
Argumentando a trajetória desse procedimento li-
terário, capaz de criar situações de distanciamento, o his-
toriador italiano faz imensa digressão. Retoma as máximas
do Imperador Marco Aurélio, escritas em grego no século
II, com o objetivo de promover auto-educação moral.
“Cancela a representação”, registra com freqüência o im-
perador. O cancelamento seria necessário para que hou-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 173 24/1/2005, 11:38
vesse uma percepção exata das coisas. Ademais, aquilo que
fosse importante deveria ser repartido em elementos: “[...]
lembra de apontar as partes singulares [...] mas subdividir
não basta, é necessário aprender a guardar distância”.
Ginzburg relaciona os escritos de Marco Aurélio com
Tolstoi, que foi seu admirador. Fornece também exem-
plos a partir do gênero literário adivinhatório, com senti-
do erótico, admitindo paralelo entre estranhamento e adi-
vinhação. Aponta novamente a relação circular entre cul-
tura douta e cultura popular.
Sempre demonstrando o estranhamento-distancia-
mento, o autor estende-se em considerações sobre fraude
literária cometida pelo monge franciscano Antonio de
Guevara, pregador na corte de Carlos V, que pretendeu
denunciar a crueldade dos conquistadores espanhóis na
América e valeu-se do procedimento literário, adaptando
e veiculando narrativa sobre um velho camponês que se
insurgira contra o imperialismo romano. Ginzburg também
encontra em Voltaire elementos para análise do mesmo pro-
cedimento de distanciamento, nos escritos sobre selvagens.
Em Proust, na figura do pintor Elstir ou na figura
da avó do narrador, personagem do segundo romance,
Ginzburg aponta novamente o procedimento. A avó ad-
mirava Madame de Sevigné, citada por amar a natureza
a partir de percepções, antes de conhecer as causas dos
fenômenos.
Depois da ampla digressão, o autor explica por que
historiadores precisam do estranhamento, através de cita-
ção proustiana, defendendo que a existência humana não
é previsível em tempo algum. O amor, o ódio, a guerra ou
174 a arte não podem ser afrontados pelo historiador a partir
de prescrições ou de esquema prévio da realidade. Finali-
zando o primeiro ensaio, Ginzburg recomenda o
estranhamento como antídoto eficaz para que historiadores
nunca aceitem a realidade como já está compreendida.
Dou um salto agora até o nono e último ensaio.
Ginzburg demonstra, mais uma vez, que a realidade não
pode ser simplesmente aceita como já está compreendi-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 174 24/1/2005, 11:38
da, sendo o distanciamento necessário ao verdadeiro co-
nhecimento. É o distanciamento que permite detectar sin-
tomas, como definiu Freud, ou os rasgos pictóricos de
Morelli, ou ainda as pistas de Doyle (Ginzburg, 1991).
Ginzburg continua demonstrando que indícios funcionam
como chaves para o conhecimento de realidades.
Imensas digressões como as que se verificam na obra
também evidenciam a extraordinária erudição do autor,
que pratica interdisciplinaridade no sentido mais amplo.
Destacam-se seus conhecimentos no campo da Filologia
a reforçarem característica da tradição historiográfica ita-
liana. Ginzburg percorre a história de um texto, devol-
vendo-lhe o aspecto original, eliminando distorções.
Desconstrói, buscando as partes singulares, minús-
culas, tradicionalmente desprezadas. Segue a antiga su-
gestão de Marco Aurélio, quando o imperador-filósofo
recomenda operações analíticas que desarticulem impres-
sões globais. Ginzburg, desconstruindo, presta atenção em
partes antes menosprezadas pelo predomínio do inconsci-
ente, do hábito, do reflexo condicionado. Tem pontos de
afinidade com Bourdieu.
O sociólogo francês assinala que a formação do his-
toriador ocorre, em grande parte, de maneira inteiramen-
te prática, como os próprios historiadores freqüentemente
admitem. Esclarecendo a construção do objeto de pes-
quisa, adverte que a mesma não se verifica a partir de um
ato teórico inaugural, mas é trabalho de grande fôlego,
que se realiza pouco a pouco, com sucessivos retoques.
Construir esse objeto supõe que se tenha postura ativa e
sistemática diante dos fatos, capaz de estabelecer um sis-
tema coerente de relações, pois o raciocínio analógico é 175
excelente ferramenta para a construção. Postula contra
“hábitos do pensamento” quando afirma que construir um
objeto é sobretudo romper com os lugares-comuns, pois o
pré-construído está em toda parte. Essa ruptura, para o
autor, é a produção de um novo olhar (Bourdieu, s.d.).
Estranhando ou distanciando-se dos fenômenos tal como foram
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 175 24/1/2005, 11:38
dados, decompondo o todo em partes, investigando os elementos
que compõem esse todo isoladamente, refletindo e conjeturan-
do sobre os fragmentos indiciários, comprova-se que também a
crença religiosa nem sempre foi homogênea na região coloniza-
da por italianos. A presença de valdenses, designados como
protestantes ou evangélicos, a presença de metodistas, assim
como a evidência de suas práticas religiosas entre os colonos
italianos no Brasil meridional, precisam ser registradas como
realidades no passado.
Considerações finais
Conhecer realidades do processo histórico local e
regional é indispensável à construção da identidade de
um grupo humano. Além disso, satisfaz a necessidade de
entender aquilo que está próximo de nós, diretamente
relacionado à nossa vida social, econômica e cultural.
É possível fazer analogia entre História Local/Regi-
onal e o indício ou a peculiaridade que conduz ao conhe-
cimento do geral, através de um processo representado
por espirais, ou dialético, que pressupõe o diálogo com
processos históricos cada vez mais complexos, amplos e
distantes.
Assim, a produção de uma História Regional/Lo-
cal, comparada a uma história do particular ou a uma
micro-história, torna-se viável, sob o ponto de vista
metodológico, na aproximação qualitativa, que, por sua
vez, representa um verdadeiro choque epistemológico e
resulta de uma concepção da História como ciência
inacabada, em permanente elaboração, enfim, de uma
176
História-problema, a substituir uma concepção tradicional
que entroniza a História-narrativa.
De outra parte, considerando as diferentes formas
de aproximação metodológica, percebe-se que, enquan-
to a abordagem quantitativa considera as características
de um fenômeno histórico na sua freqüência ou nas suas
tendências gerais, a abordagem qualitativa considera a
presença ou a ausência de determinadas características.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 176 24/1/2005, 11:38
Afastando-se de generalizações, afirma-se a possibilidade
de encontrar nos indivíduos as verdades prováveis, como
ensinou Vico. Esta abordagem qualitativa, inicialmente
focalizada no detalhe, conduz à discussão do paradigma
indiciário e à micro-história.
Condição essencial ao desenvolvimento da micro-
história é a prática interdisciplinar, com ênfase na socio-
logia, antropologia, geografia, lingüística e psicanálise. Mas,
a par de uma postura interdisciplinar desenvolvida pelos
historiadores, práticas derivadas de uma concepção de
estranhamento aos fenômenos, segundo Ginzburg, favo-
recem a produção na perspectiva da micro-história. Em
outras palavras, a História Regional/Local que se preten-
de, antes de ser uma história do microespaço regional,
local, é uma história produzida em perspectiva diferente e
em concepção dialética. Sua diretriz metodológica con-
templa etapas de desconstrução, análise de elementos
particulares, elaboração do metatexto ou síntese final,
criativa, original, como é a verdadeira síntese. História
Regional/Local na perspectiva da micro-história significa
revitalização nas formas de produção histórica com re-
construção do que aconteceu perto de nós, buscando res-
postas a problemas que se impõem no presente, em dife-
rentes esferas e âmbitos.
Referências
ARIÈS, P. 1988. El tiempo de la Historia. Buenos Aires, Paidós, 255 p.
BERGSON, H. 1990. Matéria e memória. Ensaio sobre a relação do corpo com o 177
espírito.São Paulo, Martins Fontes, 204 p.
BLOCH, M. 1976. Introdução à História. Lisboa, Europa-América, 179 p.
BOURDIEU, P. 2000. O poder simbólico. 3ª ed., Rio de Janeiro, Bertrand,. 311 p.
BURKE, P. 1995. Storia e Teoria Sociale. Bologna, Il Mulino.
CARDOSO, C.F. e BRIGNOLI, H.P. 1979. Os métodos da História. Rio de
Janeiro, Graal, 528 p.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 177 24/1/2005, 11:38
CARDOSO, C.F. e VAINFAS, R. (orgs.). 1997. Domínios da História. Ensaios
de teoria e metodologia. Rio de Janeiro, Campus, 508 p.
COLLINGWOOD, R.G. 1970. A idéia de História. Lisboa, Editorial Presença,
492 p.
CONSTANTINO, N.S. de. 2000. Sobre a atualidade de Vico. Histórica - Revis-
ta da Associação dos Pós-Graduandos em História-PUCRS 4:7-16.
CONSTANTINO, N.S. de.2000. Ochiacci di legno: nove riflessioni sulla distanza
(Carlo Ginzburg). Estudos Ibero Americanos, 26(2):178-186.
CONSTANTINO, N.S. de.2002. Pesquisa histórica e análise de conteúdo.
pertinência e possibilidades. Estudos Ibero-Americanos, 28(1):183-194.
CROCE, B. 1993. Dieci conversazioni con gli alunni dell’Istituto italiano per gli
studi storici di Napoli (Testi storici, filosofici e letterari). Napoli, Il Mulino, 175 p.
D’AUTILIA, G. 2001. L’indizio e la prova. La storia nella fotografia. Milano, La
Nuova Italia.
DE CERTEAU, M. 1998. Historia y psicoanalisis. México, Universidad
Iberoamericana.
GAY, P. 1989. Freud para historiadores. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 226 p.
GAY, P. 1990. O estilo na História. São Paulo, Companhia das Letras, 240 p.
GINZBURG, C. 1998. Occhiacci di legno. Nove riflessioni sulla distanza (campi
del sapere). 2ª ed., Milano, Feltrinelli, 231 p.
HALBWACHS, M. 1976. Les cadres sociaux de la mémoire. Paris, Mouton, 298 p.
HALBWACHS, M. 1990. A memória coletiva. São Paulo, Vértice, 198 p.
MATTOSO, J. 1997. A escrita da História. Teoria e métodos. Lisboa, Editorial
Estampa, 212 p.
MINAYO, M.C.S. 1998. O desafio do conhecimento. Pesquisa qualitativa em
saúde. 5ª ed., São Paulo-Rio de Janeiro, Hucitec- Abrasco, 269 p.
178
SCHWARTZ, B. 1996. Memory as a cultural system. Abraham Lincoln in
World War II. American Sociological Review, 61(5):908-928.
VICO, G. 1994. La Scienza Nuova. Milano. Rizzoli, 445 p.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 178 24/1/2005, 11:38
O corpo e a alma do mundo
A micro-história e a construção
do passado
Sandra Jatahy Pesavento*
Resumo:
O texto analisa a legitimidade da micro-história
enquanto estratégia metodológica de redução da escala
de análise para aprofundar o potencial de interpretação
das fontes, discutindo os limites da proposta historiográfica.
Palavras-chaves: micro-história; escala; historiografia; cotidi-
ano.
Resumé:
Le texte porte sur la legitimité de la microhistoire,
qui se propose comme une stratégie méthodologique de
réduction d’échelle de l’ analyse pour mieux interpreter
les sources, tout en discutant les limites de cette
proposition historiographique. 179
Mots-clé : microhistoire ; échelle ; historiographie ; quotidien.
*
Professora do curso de Graduação e do Programa de Pós-Graduação em Histó-
ria pela UFRGS. Mestre em História da Cultura pela PUCRS e doutora em
História Social pela USP.
HISTÓRIA
HISTÓRIAUNISINOS
UNISINOS Vol.
Vol.88 Nº
Nº10
10 JUL/DEZ
JUL/DEZ p. 179-189
2004
Historia10.p65 179 24/1/2005, 11:38
A proposta deste encontro e a pergunta enunciada
para esta mesa articulam-se em torno de dois pontos, a
serem questionados e discutidos:
- a de que a micro-história, enquanto método
apoiado na redução da escala de análise, me-
lhor se explicitaria na leitura do regional e lo-
cal;
- a de que o aprofundamento da análise implícita
naquele método pudesse conferir maior legiti-
midade ao saber histórico ou representasse um
plus em termos de apreensão do real passado pelo
historiador.
De uma certa forma, eu poderia mesmo entender
que ora se faz uma pergunta similar, mas mais elaborada
ou atualizada, àquela questão que presidiu certa mesa-
redonda organizada nos quadros de um seminário que teve
lugar na UFRGS em 1999: Da história total à história em
migalhas: o que se ganha, o que se perde.
Em texto apresentado durante este evento – Esta
história que chamam micro –, publicado em obra coletiva
pela Editora da Universidade (Pesavento, 2000), explicitei
minha apreciação sobre a micro-história, que poderia ser
aqui sinteticamente resumida.
A micro-história é antes um método ou estratégia
de abordagem do empírico, que implica o uso conjugado
de dois procedimentos: redução de escala do recorte rea-
lizado pelo historiador no tema, transformado em objeto
pela pergunta formulada, e ampliação das possibilidades
de interpretação, pela intensificação dos cruzamentos pos-
síveis, intra e extratexto, a serem feitos naquele recorte
180 determinado.
O aparente paradoxo – redução de escala/maior
profundidade de análise – foi considerado por mim um
ganho e um avanço.
Em primeiro lugar, a positividade pode ser atribuí-
da pela valorização do empírico, resgatando a importân-
cia do trabalho de arquivo e, com isso, enfatizando que,
sem a presença da marca de historicidade – a fonte, o
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 180 24/1/2005, 11:38
traço, o registro, o indício objetivo de alguém ou algo
que teve lugar no passado –, não há trabalho histórico
possível.
Afirmei ainda, neste texto, que a escolha do micro
implicou o recurso à metonímia como figura metodológica
de ação, a permitir que, do fragmento, tanto se permita a
multiplicidade de portas de entrada para a pesquisa quan-
to se amplie o espectro de respostas possíveis para uma
questão.
Entendi como sendo um ganho e um avanço este
aspecto da micro-história de proporcionar uma pluralidade
de respostas, uma vez que isto implica maior abertura do
horizonte do historiador, justamente nas décadas que mar-
caram a virada de século e milênio, caracterizadas pela
perda das certezas ou verdades únicas e definitivas.
A micro-história seria, assim, uma postura atualiza-
da e condizente com as preocupações de seu tempo, esta
era da dúvida e tempo da suspeita, onde tudo parece se co-
locar sob interrogação e questionamento, onde se amplia
o leque dos possíveis e se reduz o horizonte das certezas.
Tal postura garante para a micro-história um lugar privi-
legiado nesta corrente historiográfica contemporânea que
se convencionou chamar de História Cultural ou ainda
de uma Nova História Cultural.
E, sobre os riscos da empreitada de uma micro-
análise, assinalei as possíveis superinterpretações, onde, a
partir de um caso analisado, o historiador se permite in-
terpretações que extrapolariam os limites autorizados pela
análise do micro. Ou, em outras palavras, o historiador
levaria muito longe as suas associações, encontrando cor-
respondências e analogias para além dos marcos de seu 181
corpus documental.
Nos dois extremos da microanálise, como presença
citada em seus pólos positivo e negativo – o incremento
do potencial explicativo, via método indiciário, por um
lado, e os riscos da superinterpretação, por outro –, en-
contramos o renomado Carlo Ginzburg, figura exponencial
desta postura historiográfica (apud Del Col, 1996).
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 181 24/1/2005, 11:38
Uma outra questão, freqüente nos estudos da micro-
história, seria a confusão possível de ser feita entre o coti-
diano e o corriqueiro ou banal, ou ainda entre o excepci-
onal e o normal, ou mesmo entre o que é norma e o que é
transgressão. É preciso, sem sombra de dúvida, que o his-
toriador se coloque com clareza o que busca no estudo da
microanálise: divisar o que seria consensual, normal, usu-
al, prática, costume, hábito do dia-a-dia? Ou mesmo divi-
sar, pela normalidade do enunciado da lei e da regra, o
que seria a contravenção? Ou ainda, ao surpreender a trans-
gressão, deduzir o que seria a normalidade da vida? Estas
são, a rigor, questões que podem se apresentar com fre-
qüência àquele que reduz a escala para aprofundar a aná-
lise. Edoardo Grendi (1977, p. 512), por exemplo, intro-
duz a noção do “excepcional normal”, retomada por Carlo
Ginzburg e Carlo Poni (Ginzburg e Poni, 1989), através
de dois possíveis significados.
O primeiro é o do registro só aparentemente ex-
cepcional, mas que constitui uma prática vulgar na
cotidianidade da vida. Tratar-se-ia, por exemplo, das trans-
gressões ou delitos, que são muito mais freqüentes do que
realmente as exceções no plano do social e que permitem
questionar se a margem não diz mais o que o centro... Na
segunda acepção, o entendimento é de que justamente o
excepcional, a transgressão, a marginalidade e o desvio
podem dar conta da norma, como foi indicado acima.
Mas voltemos à questão que ora se formula, desdo-
brada nos dois pontos acima assinalados.
Ora, o regional e o local, antes de tudo, são recor-
tes simbólicos de sentido que, sem dúvida alguma, obe-
182 decem a dimensões de escala, tal como as categorias do
nacional ou do internacional.
São, a rigor, construções imaginárias de perten-
cimento, representações do real que assinalam identida-
des partilhadas. Constituem, portanto, elaborações cul-
turais históricas, que envolvem delimitações de espaço,
formas de sociabilidade, perfis de atores e um elenco de
sensibilidades, razões, valores e manifestações do espírito
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 182 24/1/2005, 11:38
entendidas como pertinentes a um território específico.
A região e o local são, assim, recortes de escala no espa-
ço, portadores de sentido cultural específico.
Mas, ao mesmo tempo, são construções de sentido
relacionais, que têm razão de ser, em sua singularidade,
vis-à-vis uma outra unidade de referência mais ampla, em
escala nacional ou internacional. Em outras palavras, as
especificidades ou singularidades que compõem um perfil
identitário local ou regional têm como referência uma
alteridade, composta por outras microunidades de senti-
do ou por um conjunto simbólico global, sancionado como
padrão de coesão social macro.
Sob este enfoque, seria a micro-história o método
ideal para o estudo e a análise destes recortes, uma vez
que as especificidades se explicitariam e ganhariam signi-
ficado por aquilo que estaria extramicro, ou extra-região
e extralocal.
É próprio do método da micro-história estabelecer
esta grade de múltiplas relações, o que o faz uma espécie
de laboratório de experiências. Na medida em que estas re-
lações pressupõem um in e um out com relação à escala
escolhida, a micro-história seria ainda o método que jo-
garia com as dimensões do geral e do específico, do todo
com a parte, do particular com o geral, da regra com a
anomalia, do consensual com a diferença ou ainda do texto
com o contexto.
Em suma, é pela intensificação destas relações que
se potencializa a interpretação, mas tal procedimento re-
quer um conhecimento do historiador muito mais amplo
do que aquele que se pressupõe para uma análise em es-
cala reduzida. 183
Realizar microanálise é dizer mais sobre um recorte
do real a partir de um método, mas isto é dado também
pela bagagem de conhecimento prévio e à parte deste re-
corte de escala.
Ou seja, o procedimento, para render um plus, exi-
ge também um plus de conhecimento da parte do histori-
ador, para que este possa enxergar um número maior de
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 183 24/1/2005, 11:38
relações e de interpretações possíveis.
Logo, em se tratando de regional e de local, tem-se
o método certo para esta escolha de escala, mas que só
funciona em jogo referencial com uma bagagem de co-
nhecimentos extramicro e com a possibilidade de articu-
lação, em analogias, contraste e justaposição, com outras
escalas e situações.
As dissertações e teses da última década, de uma
certa forma, corporificam esta tendência, a mostrar que
temas micro podem, em si, conter o macro. Não se trata
de legitimar velhas histórias locais que se encerravam em
si mesmas, em assumida especificidade sem padrão de re-
ferência comparativa, ou em algo travestido de pretensa
modernidade historiográfica.
Trata-se, antes de tudo, de entender que a redução
de escala é uma opção que passa pela disponibilidade e
pelo acesso às fontes, por exemplo, mas, sobretudo, pela
pergunta que sobre elas se lança e que pode conter o uni-
versal. Seria isto, a rigor, que poderia diferenciar uma an-
tiga história, local, auto-explicativa em sua especificidade,
e um estudo de micro-história, onde o método da grelha
pressupõe uma rede de relações com um contexto mais
amplo, para responder a questões que articulam o parti-
cular com o global da história.
Mas falemos sobre aquele plus aludido, que eventu-
almente tornaria a pesquisa mais legítima. Esta legitimi-
dade não pode ser compreendida no contexto da veraci-
dade, pois hoje os historiadores não se pautam, a rigor,
pelo conceito aristotélico de verdade como correspon-
dência do real com seu discurso.
184 Esta legitimidade, contudo, poderia se afirmar pelo
desejo de cientificidade da história, o que seria possibili-
tado pelos rigores do método da microanálise. Ou, ainda,
pela ampliação das respostas possíveis e pela intensa e
exaustiva análise do empírico, se possibilitaria chegar o
mais perto possível daquilo que teria acontecido um dia,
neste país estrangeiro do passado, onde se falava uma língua
diferente, como disse um dia L. P. Harthley (apud
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 184 24/1/2005, 11:38
Lowenthal, 1998).
Chegamos, com isso, ao coração do plus: o corpo e a
alma do mundo, sonho de todo historiador, mesmo saben-
do que, desta temporalidade escoada, ele só possa cons-
truir versões que ofereçam verossimilhança com o real
passado.
Com o corpo e a alma do mundo queremos tanto di-
zer as coisas, os gestos, as práticas e as gentes de cada dia
que um dia existiram, na sua cotidianidade ou na sua
excepcionalidade, e que constituem o corpo deste passa-
do, quanto nos referimos às sensibilidades, às motivações,
às razões, as certezas, às emoções e aos sentimentos que
correspondem à alma do mundo de um momento históri-
co dado.
Falamos, pois, de coisas mensuráveis e quantifi-
cáveis, por um lado, e de coisas aparentemente invisíveis
ou de difícil percepção, por outro. Seria, no caso, a micro-
história um método legítimo para a apreensão destas duas
dimensões da vida, que aqui chamamos, em liberdade
poética, do corpo e da alma do mundo?
Arriscamos dizer que sim.
Há, sem dúvida, um lado mensurável da vida, das
coisas visíveis do acontecer de cada dia, onde se torna
possível resgatar a dinâmica do social, o movimento das
pessoas no espaço, as interações e os conflitos, o trabalho
e a guerra, o lazer e o consumo, a pobreza e a acumula-
ção, as migrações e o povoamento, redes sociais e
interações de toda espécie, ações políticas, obras do Esta-
do, iniciativas privadas.
Em escala reduzida, todo este mundo do cotidia-
no, de que é feita a vida, se revela na sua normalidade, 185
em série e freqüência. Não só aquilo que marcaria a
cotidianidade, pois a micro-história exporia também o
grande acontecimento, os feitos excepcionais, que em
relação com o cotidiano se revelariam inusitados, im-
previstos.
De certa forma, poderíamos dizer que a postura da
micro-história é aquela que melhor se adaptaria a uma
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 185 24/1/2005, 11:38
espécie de reinvenção do cotidiano, tal como a proposta
por Michel de Certeau (1990). Mesmo relativizando a
obtenção da verdade, Certeau entendeu ser possível res-
ponder a este “desejo de verdade” que move o historia-
dor, através da busca de uma descrição verossímil.
Para tanto, Michel de Certeau se empenhou em re-
cuperar os traços da vida pelo resgate exaustivo dos fatos
acontecidos, tornando inteligível uma temporalidade do
passado. Sobretudo, interessavam-lhe as práticas cultu-
rais, construídas no dia-a-dia, portadoras de discursos e
imagens de sentido.
Da mesma forma, é ainda a micro-história aquela que
melhor se presta à descrição densa prevista por Clifford Geertz
(1989) e tomada de empréstimo pelos historiadores que
principiavam a ver como práticas sociais se traduziam em
bens culturais, tal como Edward P. Thompson (1995).
A vida dos homens, enfim, revelada, dissecada, ex-
posta em carne e osso nas suas minúcias, onde cada fato
poderia ser objeto de múltiplos cruzamentos e correspon-
dências, buscando atingir as pegadas ou traços da passa-
gem do homem na história.
Talvez, mesmo, a micro-história pudesse, em certa
medida, registrar aquilo que Ítalo Calvino (1990) postu-
lava como propostas para o próximo milênio – que, para
nós, já começou... –: a exatidão, a visibilidade, a multiplicidade.
A micro-história possibilitaria, com a sua grade de
malha fina, fornecer ao historiador imagens visuais níti-
das, incisivas, memoráveis, precisas, fruto de um vascu-
lhar incessante do passado, daria uma tradução quase vi-
sual das coisas e gentes acontecidas em um outro tempo.
186 Esta estratégia implicaria ver o mundo como um sistema
de relações, como um universo de múltiplas reações a se-
rem descobertas.
Mas isto ainda seria pouco. Sabemos que dar a ver
e dar a ler um passado é sempre uma versão aproximati-
va, que pressupõe vôos da imaginação. Esta é a grande
questão de Ítalo Calvino, a linha mestra a unir todas as
propostas para este milênio que ele não veria.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 186 24/1/2005, 11:38
As sensibilidades são a chave desta porta mágica de
entrada que permite ver como os homens realizavam a
construção social da realidade por um mundo paralelo de
sinais. As sensibilidades corresponderiam a este núcleo
primário de percepção e tradução da experiência huma-
na no mundo. O conhecimento sensível opera como uma
forma de apreensão do mundo que brota não do racional
ou das elucubrações mentais mais elaboradas, mas dos
sentidos, que vem do íntimo de cada indivíduo.
Às sensibilidades compete essa espécie de assalto
ao mundo cognitivo construído pelos conceitos, pois li-
dam com as sensações, com o emocional, com a subjeti-
vidade. Elas comparecem no cerne do processo de repre-
sentação da realidade e correspondem, para o historiador
da cultura, àquele objeto precioso a capturar no passado,
à própria vida. Trata-se daquilo que Carlo Ginzburg
(1997) definiu como a enargheia, a impressão da capaci-
dade humana de representar e exprimir o mundo, a ener-
gia vital que se abriga em um momento histórico dado e
que se traduz na capacidade de representar o mundo.
Resgatar as sensibilidades implica encontrar a tra-
dução externa, enquanto marca de historicidade, de uma
impressão interna. Mas esta é tarefa das mais finas, delica-
das, profundas, pois a realidade não se apresenta de forma
literal ou transparente.
O mundo é simbólico, a realidade é cifrada, discur-
sos e imagens são portadores de sentidos e de elementos
sutis, por vezes quase imperceptíveis, multifacetados.
É preciso, pois, ir ao encontro deste mistério do
mundo, optando sempre pelo olhar oblíquo, indireto, para
ver além, mudando o ponto da observação. 187
Quando Calvino fala da qualidade da leveza como
proposta de decifração, diz que “é preciso considerar o
mundo sob uma outra ótica, outra lógica, outros meios de
conhecimento e controle” (Calvino, 1990, p. 19).
O corpo do mundo não tem vida sem a alma, e é no
encalço desta sintonia fina que a micro-história poderá
revelar o seu plus. Atingir as sensibilidades dos homens do
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 187 24/1/2005, 11:38
passado, revelar como eles representavam a si próprios e
ao mundo, eis a tarefa ou desafio a ser realizado pelo mé-
todo da microanálise.
A micro-história, com sua análise exaustiva ou des-
crição densa – para tomarmos de empréstimo um termo
caro à antropologia cultural –, fornece imagens que aspi-
ram à precisão ou, pelo menos, aproximação com o pas-
sado. Mas é preciso que elas sejam dotadas de sentido,
que os personagens, ações e discursos sejam impregnados
de razões e sentimentos, que expliquem por que e como
se movia a existência dos homens.
Falamos do imaginário, sim, daquilo que Jean
Starobinski definiu como a comunicação com a alma do
mundo, com a sensibilidade tradutora da vida em repre-
sentações. Seria, pois, exatamente isso a meta de cada
historiador que investiga no campo da História Cultural:
captar este reduto sensível de investimento na percep-
ção, reconhecimento e qualificação do mundo!
Como diz Ítalo Calvino (1990, p. 90), “estamos
sempre no encalço de uma coisa oculta ou, pelo menos,
potencial ou hipotética, de que seguimos os traços que
afloram na superfície do solo”.
Há traços visíveis, explícitos, mesmo quantificáveis,
mas há outros que não se dão a revelar senão pelo esforço
do imaginar e que dão conta do universo mental dos ho-
mens de um outro tempo, imperceptíveis à vista, quase
invisíveis ou subterrâneos, renitentes a serem mensurados.
É nesta busca de sentidos, de lógicas ou da descoberta das
irracionalidades da vida que a micro-história pode se re-
velar eficaz: revelar as coisas não ditas, mas intuídas, pre-
188 encher lacunas e ausências, divisar indícios e traços onde
um olhar desavisado nada identificaria.
Em suma, a micro-história poderia, ou mesmo ou-
saria, ser capaz de produzir, ao mesmo tempo, estas duas
formas de conhecimento da realidade de que fala Roland
Barthes (1980): uma que produz um saber sobre as coisas
que podem ser medidas e mesmo comprovadas, e que
pertence ao reino do corpo do mundo, da observação di-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 188 24/1/2005, 11:38
reta do real; outra que constrói um saber sensível, através
de indícios, de sensibilidades, emoções e valores, por ve-
zes imperceptíveis, que têm na imaginação o seu potenci-
al criador e que fazem parte daquilo que pode ser definido
como a alma do mundo.
Mas esta história, assim concebida, seria ainda cha-
mada de micro, mesmo contendo o corpo e a alma do mun-
do? Só se nos ativermos à sua estratégia de redução de
escala, porque neste micro estaria contida a vida dos ho-
mens, em um momento dado de sua história.
Referências
BARTHES, R. 1980. La chambre claire : note sur la photographie. Paris, Gallimard,
192 p.
CALVINO, Í. 1990. Seis propostas para o próximo milênio. São Paulo, Compa-
nhia das Letras, 141 p.
DE CERTEAU, M. 1990. L’ invention du quotidien. 1. Arts de faire. Paris,
Gallimard, 347 p.
DEL COL, A. 1996. Domenico Scandella detto Menocchio: i processi
dell’Inquisizione. Parenthèse, 3.
GEERTZ , C. 1989. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro, Ed. Guanabara, 323 p.
GINZBURG, C. 1997. Le juge et l’ historien. Paris, Verdier, 192 p.
GINZBURG, C. e PONI, C. 1989. O nome e o como: troca desigual e mercado
historiográfico. In: GINZBURG, C. (org.). A micro-história e outros ensaios.
Lisboa, DIFEL (1ª ed.: Quaderni Historici, nº 40, 1979).
GRENDI, E. 1977. Microanalise e storia sociale. Quaderni storici, 35.
189
LOWENTHAL, D. 1998. El pasado es un país estraño. Barcelona, AKAL.
PESAVENTO, S.J. 2000. Esta história que chamam micro. In: GUAZZELLI,
C.A.B. ; PETERSEN, S.R.F. ; SCHMIDT, B.B. E XAVIER, R.C.L. (org.).
Questões de teoria e metodologia da história. Porto Alegre, Editora da UFRGS, p.
209-234.
THOMPSON, E. P. 1995. Costumbres en común. Barcelona, Ed. Crítica, 606 p.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 189 24/1/2005, 11:38
190
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 190 24/1/2005, 11:38
O que a micro-história tem a nos
dizer sobre o regional e o local?
(Comentários a Núncia Constantino,
Regina Weber e Sandra Pesavento)*
Cláudio Pereira Elmir**
- É aos céus que tu deves subir, Astolfo [...], aos campos lívidos
da Lua, onde um interminável depósito conserva dentro de
ampolas enfileiradas – (como na carta de Copas) – as histórias
que os homens não viveram, os pensamentos que bateram uma
vez aos portais da consciência e se desvaneceram para sempre,
as partículas do possível descartadas no jogo das combinações,
as soluções às quais se poderia chegar e não se chega... (Ítalo
Calvino)
O mundo lê-se ao contrário. Tudo é claro. (Ítalo Calvino).
Existe uma premissa que regeu a organização deste
Fórum e que está na base de todas as exposições feitas ao
longo do dia de hoje, em maior ou em menor medida, e
que o título mesmo deste encontro é capaz de revelar, 191
como muito bem observou a Profa. Sílvia Petersen na sua
*
Estes comentários, apresentados na mesa-redonda da qual provém o título do
artigo, foram feitos por ocasião do Fórum “Escala e legitimidade no saber
histórico: desafios da pesquisa na pós-graduação”, realizado na UNISINOS no
dia 26 de agosto de 2003. Propositalmente, foi mantida a estrutura oral de
exposição do texto, para esta publicação.
**
Doutor em história pela UFRGS. Professor da UNISINOS.
HISTÓRIA
HISTÓRIAUNISINOS
UNISINOS Vol.
Vol.88 Nº
Nº10
10 JUL/DEZ
JUL/DEZ p. 191-205
2004
Historia10.p65 191 24/1/2005, 11:38
intervenção da tarde (Petersen, 2003): “Escala e legiti-
midade no saber histórico: desafios da pesquisa na pós-
graduação”.
A questão de fundo que dá origem a todas as apro-
ximações que tentamos fazer nas três mesas-redondas e na
apresentação da Profa. Eloísa Capovilla talvez possa ser
formulada nos seguintes termos: em qual(is) escala(s) está
sendo produzido o conhecimento histórico acadêmico fei-
to no Rio Grande do Sul (nas dissertações de mestrado,
nas teses de doutorado e nas pesquisas dos professores vin-
culados aos PPG) e em que medida este mesmo conheci-
mento é representativo de um certo consenso do que deva
ser o conhecimento histórico e que, portanto, alcance le-
gitimidade, pelo menos, dentro de nosso campo de saber
e de atuação?
Dizendo de outro modo, os termos escala e legitimi-
dade remetem para uma articulação inextricável entre o
tamanho e o valor do tamanho. Parece ter ficado evidente
das exposições realizadas que não se trata de estabelecer
nestas medidas e em suas valorizações qualquer simplifica-
ção de análise que redunde, por exemplo, na positividade
intrínseca do pequeno e na negatividade intrínseca do
grande; ou no seu contrário, para ainda assim insistir no
equívoco.
É possível ainda pensar no binômio escala / legitimi-
dade quando se discute uma instância institucional maior
na qual o conhecimento histórico acadêmico está inseri-
do e que é o sistema da pós-graduação no país e as várias
alterações pelas quais passou ao longo da gestão do Prof.
Paulo Renato de Souza no Ministério da Educação (1995-
192 2002), sob os governos de Fernando Henrique Cardoso.
Quero chamar a atenção, particularmente, para um dado
desta variável que diz respeito ao radical estreitamento
nos prazos para a realização de um curso de mestrado aca-
dêmico (sem falar na criação dos mestrados profissionais),
que, na segunda metade dos anos 90, passaram de 48
meses para 24 meses. Esta alteração substantiva traz des-
dobramentos não apenas no incremento das taxas oficiais
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 192 24/1/2005, 11:38
de profissionalização pela pesquisa; e, neste sentido, seria
oportuno lembrar Pierre Bourdieu, para o qual tem a
“palavra autorizada” quem tem o título, e não necessari-
amente quem sabe. Para além de uma suposta “demo-
cratização” no acesso à pós-graduação stricto sensu, este
fato traz conseqüências na qualidade do conhecimento
produzido, na razão direta de que um Mestrado em 24
meses guarda muito pouca semelhança com um Mestrado
em 48 meses; evidentemente para aqueles alunos que
cumprem os prazos regulamentares. Este é um dado ex-
terno ao conhecimento histórico que repercute, sem
dúvida alguma, na sua consecução – tema de um qua-
dro muito mais complexo cujas variações pudemos acom-
panhar na mesa da manhã na avaliação feita pelos coor-
denadores dos PPGs em História do estado (PUCRS,
UFRGS, UNISINOS e UPF).
Definitivamente, a “micro-história” não se erige em
resposta epistemológica a um dado de natureza institucional
como este que, a título de introdução, citei rapidamente.
Isto pelo simples motivo de que a “micro-história” não é
aquilo que o “senso comum douto” possa pretender. As-
sumindo o risco de construir uma imagem caricata de seu
sentido equivocado, a fim de reforçar a ênfase do engano,
a “micro-história” não é a elevação do desimportante ao
estatuto de objeto de pesquisa. Os projetos de pesquisa
dos micro-historiadores, se assim pudermos designá-los,
certamente não suprimem a justificativa intelectual do
empreendimento da investigação. Talvez o prefixo “micro”
contribua, negativamente, para endossar avaliações ligei-
ras e sem qualquer razoabilidade dos (pré)críticos da
“micro-história”. Afinal, se existe graça no pequeno (Small 193
is beautiful), ninguém merece dedicar-se ao “ínfimo”, ain-
da que por apenas dois anos que seja. A propósito, bem
sabemos que o processo seletivo para ingresso no Mestrado
ou, em menor medida, no Doutorado é uma das primeiras
instâncias nas quais se realiza o veredicto acerca da legiti-
midade do conhecimento que se pretende produzir; ou
seja, começa-se julgando a legitimidade da intenção do
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 193 24/1/2005, 11:38
autor, embora, a rigor, este ainda não exista enquanto tal
e aquela, a intenção, no mais das vezes, é ainda obscura
para o próprio.
***
Recentemente, foi publicado um pequeno e preci-
oso ensaio pelo Prof. Ronaldo Vainfas (UFF), no qual o
campo da “micro-história” é traçado, quase sempre, com
muita clareza. Trata-se do livro Os protagonistas anônimos
da história: micro-história, publicado pela Editora Campus,
do Rio de Janeiro, no ano passado (Vainfas, 2002). O tí-
tulo, não obstante o apelo mercadológico que encerra, é
incongruente com o conteúdo de seu próprio objeto. O
autor mesmo reconhece, instruído por conhecido ensaio
de Carlo Ginzburg – O nome e o como – (Ginzburg, 1991,
p.169-178), que “qualificar o tipo de personagem da
micro-história como ‘anônimo’ constitui equívoco sério,
quase uma ‘heresia’ à luz da micro-história, que de certo
modo assume como um de seus pontos de partida
metodológicos a busca de nomes, a pesquisa onomástica
em arquivos notariais ou paroquiais, visando a recons-
tituição de famílias, de seus recursos materiais e da vida
material dos lugares onde viveram esses personagens”
(Vainfas, 2002, p. 138). Os personagens são, quase sem-
pre, homens comuns, mas não anônimos.
Afastando uma identificação entre a “micro-histó-
ria” e a “história das mentalidades”, o autor enuncia aqui-
lo que a “micro-história” não é, afirmando sua renúncia à
história geral, à contextualização sistemática, à explica-
194 ção, à totalidade e à síntese” (cf. Vainfas, 2002, p. 51).
Para evitar uma leitura equivocada da compreensão do
autor, neste resumo precário que faço, cabe destacar que
no decorrer do ensaio Vainfas relativiza os termos de sua
antidefinição inicial dizendo, por exemplo: “A narrativa
micro-histórica não chega, portanto, a renunciar à expli-
cação – o que, se feito, implicaria a renúncia do historia-
dor, ao menos no plano expositivo, a um de seus deveres
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 194 24/1/2005, 11:38
de ofício” (Vainfas, 2002, p. 126). Na verdade, o que o
autor quer afirmar é que o historiador microanalítico “ex-
plica por meio da narrativa” (p. 127). Para Vainfas, o acen-
to, neste tipo de história, é posto nos “pequenos enredos”
(p.13 e 106) ou “enredo minúsculo” (p. 128). Talvez aqui
coubesse uma pequena retificação. O enredo, em linhas
gerais, compreende a forma pela qual se constrói a narra-
tiva historiográfica (Elmir, 2004, p. 95-109). Trata-se, já,
de um processo de reconfiguração (discursiva) do motivo
gerador da narrativa, ou seja, da fábula. Esta, sim, pode
ser considerada pequena ou minúscula. O argumento do
qual o historiador parte para a construção de sua história
é que encerra, por via de regra nestes casos, um tamanho
diminuto. Já a intervenção do historiador no tratamento
que fornece ao mesmo resulta, quase sempre, em um tex-
to mais alentado.
Feitas estas considerações críticas – que absoluta-
mente não comprometem o melhor de seu texto, e que é
sua parte majoritária –, vou sintetizar alguns dos procedi-
mentos elencados por Vainfas e que caracterizam, em gran-
des linhas, a prática micro-histórica, já destacados nesta
mesa pelas professoras Núncia Constantino (2004), Regi-
na Weber (2003) e Sandra Pesavento (2004): privile-
giamento de recortes minúsculos (p. 106), pesquisa de
evidências periféricas (p. 109), do que pode decorrer uma
prática historiográfica indutiva (p. 110), exaustiva pes-
quisa documental, erudição e rigor factual (p. 110), pre-
ferência ao tempo curto e frenético dos acontecimentos
(p. 112), atenção à “teia social concreta onde os atores se
movem, exercendo múltiplos papéis sociais e individu-
ais” (p. 117); em decorrência disto, “[...] importa analisar 195
não apenas os fatos ocorridos, mas os dilemas, os impasses,
as incertezas de cada um – ou, mais comumente, dos per-
sonagens centrais” (p. 117), trabalho de “contextualização
múltipla” (o contexto não é, neste caso, uma totalidade a
priori) (p. 118-20), explicação pela narrativa, na qual a
descrição exaustiva e a narração ocupam lugar central (p.
120-7), relação dialógica entre o texto e o leitor (o autor
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 195 24/1/2005, 11:38
oferece no texto a trajetória de seu processo inves-
tigativo; não formula um “discurso autoritário”) (p. 130-
1). Embora não seja a natureza dos temas o que define o
campo da micro-história (p. 135), “[...] os temas mais
aptos a uma investigação microanalítica são aqueles li-
gados a comunidades específicas [...], às situações-limite
e às biografias” (p. 136).
Em suma, para Vainfas, a micro-história lida com
aquilo que está comumente à sombra da história. Nas suas
palavras: “À sombra do panteão das histórias nacionais
ou oficiais. À sombra das mitologias, ideologias e religiões”
(p. 142). Neste sentido, pode ser associada à história do
popular, à história do marginal, enfim, à história da mar-
gem. A micro-história se coloca no lugar do “ex-cêntrico”,
ou seja, daquilo que não está no centro e que, portanto,
merece, no mais das vezes, um olhar de soslaio, que não
fixa, cujo ponto de parada se localiza adiante. O objeto
preferencial da micro-história clama um olhar que se diri-
ja para a borda, que dê conta da “alma” (do aparente-
mente invisível ou de difícil percepção), para utilizar uma
feliz expressão da Profa. Sandra. A micro-história se con-
forma na contracorrente do olhar desavisado que nada
vê. Ainda segundo a Profa. Sandra, ela opta sempre pelo
olhar oblíquo, indireto, para ver além. Parece que ao his-
toriador cabe a tarefa de sempre, e sempre difícil, e sem-
pre necessária: saber inquirir o objeto e, antes disto, saber
constituí-lo conceitualmente. Dar dignidade episte-
mológica à aldeia se ela não se oferecer ao historiador
numa relação atávica pela qual somente a “história do
umbigo” for possível.
196 Aqui, contudo, já fazemos a transição para a abor-
dagem da relação entre o “regional” e o “local” e a “micro-
história”, segunda parte destes meus comentários. Mas,
antes disto, vou dizer algumas palavras sobre os riscos que
a abordagem microanalítica pode oferecer, segundo o uso
que se fizer da mesma. Para Ronaldo Vainfas, seus riscos
“[...] se encontram no empiricismo, no perigo de transfor-
mar um caso extremo ou situação-limite em um exemplo
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 196 24/1/2005, 11:38
típico, no descontrole das intuições e conjecturas face às
lacunas de informação, abrindo caminho para um
subjetivismo quase ficcional. E talvez a maior limitação
da microanálise resida na ausência da comparação”
(Vainfas, 2002, p. 149). A Profa. Sandra chama a aten-
ção também, em seu artigo “Esta história que chamam
micro”, publicado em 2000 e que mencionou esta noite
em sua fala, para o perigo de os “indícios” serem insufici-
entes a ponto de não passarem de “elos perdidos” numa
cadeia de inteligibilidade impossível de ser refeita. Tam-
bém destaca os riscos do excesso interpretativo (as
superinterpretações) e, ainda, a possibilidade de
“hipertrofia das potencialidades metonímicas, que fazem
tomar a parte pelo todo” (Pesavento, 2000, p. 229). Nes-
te sentido, para a autora, diferentemente de Vainfas, o
sentido de “totalidade” não se desfaz na prática
microanalítica. Talvez possa explicar esta dissensão a con-
sideração de que a “totalidade” da micro-história se reve-
la menos soberba, mais próxima da escala do princípio
relacional que dirige a vida humana em comunidade. A
fala da Profa. Sílvia Petersen, de hoje à tarde, pode ser
elucidativa deste ponto, quando faz a defesa de uma con-
cepção dialética da relação entre o “todo” e as “partes”.
Reconhecendo que o objeto do historiador não é a totali-
dade, aponta que “[...] a totalidade é a perspectiva de aná-
lise de qualquer objeto” (Petersen, 2003, p. 184) ou, ain-
da, que a totalidade mantém-se como horizonte
metodológico para a consumação da melhor história.
A Profa. Sandra encerra seu artigo aqui citado apon-
tando para as relações entre a micro-história e o local,
dizendo: “A micro-história [...] busca ver no local uma 197
porta de entrada ou janela para resgatar o universal e se
propõe, como linha de frente a atacar, exatamente o res-
gate desta articulação entre o todo e a parte. Entende,
basicamente, que é no nível micro que se surpreendem
melhor os fenômenos mais gerais” (Pesavento, 2000, p.
232). Penso que este é um bom começo para iniciarmos a
discussão capaz de apontar vias de resposta à pergunta
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 197 24/1/2005, 11:38
que dá título a esta mesa: O que a micro-história tem a nos
dizer sobre o regional e o local?
A Profa. Regina Weber centrou sua intervenção
neste (des)encontro apontando, de maneira apropriada,
a distância que separa a micro-história da história local.
Assim como não se devem tomar estes termos como equi-
valentes, há que se diferenciar a “história local” do sim-
plesmente “local”. De fato, a história local parece remeter
às histórias municipais, campo de realização de uma
historiografia quase sempre apartada de pretensões cien-
tíficas, disciplinares e/ou acadêmicas. Contudo, o debru-
çar-se com competência sobre o factual não constitui um
traço diacrítico deste tipo de história, porquanto na micro-
história é a intensividade no inquérito às fontes um dos
pontos altos. Talvez o elemento que melhor esclareça as
divergências na consumação de ambas as histórias esteja
justamente no âmbito teórico-metodológico. A melhor
postura microanalítica não faz sucumbir o tratamento
dado ao objeto a um “livre jogo da empiria”, ao passo que
nas abordagens tradicionais realizadas pelas histórias lo-
cais ou municipais subjaz um sentido de harmonia na rea-
lização do devir histórico que o arrolamento dos dados faz
apenas confirmar (Seffner, 1997). Quanto à sonegação do
nome dos bois maus, a que se refere a Profa. Regina, faço
minhas suas palavras. De fato, desde uma perspectiva
historiográfica, há que se romper tanto com a lógica do
silêncio (“não falo daquilo de que não gosto”) quanto com
a lógica, pior, da crítica etérea (“há vários estudos precá-
rios, os quais não menciono”). Seja por modéstia, soberba
ou prevenção, esta deliberada ausência de crítica
198 historiográfica somente contribui para que o conhecimento
histórico não avance. Fazer de conta que não existem ou
dar a saber os milagres (pecados) sem a devida atribuição
de créditos aos santos (ou hereges) não deixa de ser uma
prática de proteção ao campo, corporativa no pior senti-
do da expressão.
O Prof. Sílvio Correa publicou recentemente um
artigo (História local e seu devir historiográfico) no qual as
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 198 24/1/2005, 11:38
distinções entre a história local e a micro-história são
estabelecidas. Naquela, chamam a atenção a escrita pre-
dominantemente diletante e a narrativa demasiado sub-
jetiva. Desprovida de teorias e métodos reconhecidos pela
historiografia, “não raro, a escrita da história local tem
ainda a própria experiência empírica do(s) seu(s) autor(es)
como fonte literária” (Correa, 2002, p. 14). Além disto,
“em geral, a escrita da história local diletante contém uma
avaliação positiva do processo histórico” (Correa, 2002,
p. 14), o que remete para aquela idéia de sentido de har-
monia na realização do devir histórico que anunciávamos
antes. Do ponto de vista ideológico, este tipo de história
está informado, muitas vezes, pela ideologia do self-made
man (Correa, 2002, p. 20), que a análise crítica dos estu-
dos de imigração muitas vezes revela. Falta a estes traba-
lhos, em alguns casos, uma importante prescrição de mé-
todo feita pela Profa. Regina, a saber, a necessidade “de
submeter a uma crítica epistemológica os nossos próprios
instrumentos de interpretação do mundo social”. No pon-
to de vista da Profa., ao afastar-se do “local”, “o historia-
dor tem mais chances de escapar do etnocentrismo quan-
do estuda justamente esse próprio local”. O nó górdio deste
dilema se dá quando a vinculação necessária (étnica, por
exemplo) do pesquisador com o objeto de sua investiga-
ção inviabiliza – por insuficiência teórico-metodológica –
este relativo afastamento desejável. A opção pelo teles-
cópio, neste caso, não é capaz de garantir, em si, a ausên-
cia de etnocentrismo do autor.
Por outro lado, pode a micro-história ser compre-
endida como um outro nome, moderno, que se dá para os
clássicos “estudos de caso” ou “estudos monográficos”? Ao 199
que tudo indica, a resposta é negativa. Para Vainfas, “qual-
quer pesquisa - se for pesquisa – é monográfica” (Vainfas,
2002, p. 11), em certo sentido. Jacques Revel (em
Microanálise e construção do social), por sua vez, vai um
pouco além desta constatação ao dizer: “O problema co-
locado por cada uma delas [as monografias] não era o da
escala de observação, mas o da representatividade de cada
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 199 24/1/2005, 11:38
amostra em relação ao conjunto no qual ela tendia a se
integrar, assim como uma peça deve encontrar seu lugar
num puzzle” (Revel, 1998, p. 20). Nestes termos, a
monografia se parece com um “estudo de caso”. Se a tota-
lidade micro-histórica se realiza ao longo da construção
do objeto e não previamente, como vimos, e se esta prá-
tica lida com procedimentos mais indutivos que deduti-
vos, a imagem do “quebra-cabeça” é precária para dar
conta daquilo que fazem os micro-historiadores.
Existe um certo sentido de indeterminação na prá-
tica microanalítica que escapa totalmente à completa
previsibilidade e lugar exato ocupado por cada uma das
peças no jogo, antes mesmo de sua montagem: “Os traba-
lhos dos micro-historiadores exibem deliberadamente uma
dimensão experimental” (Revel, 2000, p. 20); “Nasce as-
sim uma forma de exposição que pode parecer sinuosa,
complicada, mas que reintroduz a todo instante as regras
do jogo na própria narrativa do jogo” (Revel, 2000, p.
21). A leitura das cartas de tarô, neste sentido – e aqui
lembrando o livro de Ítalo Calvino (1991), O castelo dos
destinos cruzados – faz melhor justiça a uma imagem que
se queira formular do caminho percorrido pela micro-his-
tória. Para usar duas expressões trazidas pela Profa. Núncia
Constantino em sua exposição, a “leitura flutuante” e o
“rigor elástico” traduzem, em boa medida, o empreendi-
mento microanalítico.
***
O conhecimento produzido pela micro-história,
200 nesta linha de raciocínio, se aproxima bastante da noção
de “campo de possibilidades” que rompe, na perspectiva
de Boaventura de Sousa Santos, com o modelo de
racionalidade que preside a ciência moderna e seu decor-
rente paradigma dominante (v. Santos, 2000). Em outras
palavras, e parafraseando o sociólogo português, os micro-
historiadores parecem ter optado por “exercer a insegu-
rança” ao invés de “sofrê-la”.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 200 24/1/2005, 11:38
A recuperação da importância do “local”, dando a
ele dignidade epistemológica, pode representar uma nova
atitude frente ao conhecimento, na medida em que o “in-
dividual” não se traduz mais em obstáculo, mas sim em
via de acesso. Na configuração de um novo paradigma,
ainda que de maneira especulativa, Boaventura diz que
todo o conhecimento é local e total. Para o autor, “[...] o
conhecimento avança à medida que o seu objecto se am-
plia, ampliação que, como a da árvore, procede pela dife-
renciação e pelo alastramento das raízes em busca de no-
vas e mais variadas interfaces” (Santos, 1996, p. 47-8).
Esta ampliação do objeto não entra em contradição com
os princípios que regem o procedimento da microanálise.
A micro-história amplia a variação de escala, e, neste ca-
minho, para utilizar as palavras da Profa. Núncia, “condi-
ção essencial ao desenvolvimento da micro-história é a
prática interdisciplinar, com ênfase na sociologia, antro-
pologia, geografia, lingüística e psicanálise”. O objeto se
amplia, assim, na pluralidade reconhecida de sua apropri-
ação, na necessidade de fomentar as interfaces disciplina-
res, na consideração de que “os temas são galerias por onde
os conhecimentos progridem ao encontro uns dos outros”
(Santos, 1996, p. 47).
Tem-se dito nos últimos tempos, às vezes de manei-
ra exagerada, deslumbrada ou pouco densa, que a Histó-
ria, ou alguns historiadores, têm uma dívida com o saber
produzido pela Antropologia. Se as relações de nossa dis-
ciplina com a Sociologia estão marcadas, historicamente,
por desconfianças e declarações de ironia recíprocas (v.
Burke, 1980), o mesmo não se dá entre a História e a
Antropologia, embora esta seja uma relação decla- 201
radamente mais recente. Esta aproximação aparente (ou
substantiva) também pode fazer parte de um movimento
mais amplo identificado por uma série de autores e locali-
zado no final dos anos 60 e início dos anos 70 do século
passado. Sem assumir a postura ingênua de festejar como
positivas todas as formas de vanguarda, para Giovanni
Levi, a micro-história foi uma resposta possível a uma cri-
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 201 24/1/2005, 11:38
se nas formas habituais de produção do conhecimento
histórico (Levi, 1992), coincidentemente no momento em
que ocorre, para o caso francês, uma nova inflexão no
movimento da “Nova História”, com a 3 a geração assu-
mindo o poder.
Na conferência pronunciada por ocasião da aber-
tura do XXV Encontro Anual da ANPOCS, em 2001,
David Maybury-Lewis abordou a temática d’A Antropolo-
gia numa era de confusão. O sintoma mais significativo dis-
to que ele chamava de era de confusão era dado pela cri-
se do Estado-Nação. Em suas palavras: “O Estado, como
a cultura, deixou de ser bem delimitado e claramente
definido. Não é claro quem pertence a ele. Também não
é claro o que seus membros têm em comum, da mesma
forma que são pouco claras a natureza e a amplitude de
sua soberania” (Maybury-Lewis, 2002, p. 21). As crises
políticas internacionais a que temos assistido nas últi-
mas décadas (se é que esta é uma boa expressão para dar
conta daquilo que se passa) talvez possam corroborar
esta perspectiva.
Para Lewis, a pesquisa antropológica é especialmente
adequada para abordar esta “era de confusão”. Diz ele:
“Os antropólogos estão qualificados e em boa posição para
ampliar suas técnicas de pesquisa, que consistem em se
concentrar no particular para iluminar o geral. O foco
antropológico no particular é coisa sabida e, às vezes,
motivo de piada. Fomos muitas vezes criticados por ser-
mos localistas ao mais alto grau, que só raramente e com
dificuldade somos capazes de enxergar o quadro geral.”
(Maybury-Lewis, 2002, p. 22).
202 E prossegue: “Hoje, e nesta era, a análise antropo-
lógica precisa tentar ser cada vez mais relacional [..]) É
imperativo que a antropologia continue a fazer o que sem-
pre fez, isto é, desenvolver a compreensão relativista de
outras culturas e civilizações para promover a tolerância
fundamentada” (Maybury-Lewis, 2002, p. 22).
À parte a constatação possível de ser feita de que
“Existe um peculiar atraso temporal no movimento dos
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 202 24/1/2005, 11:38
conceitos através das fronteiras das disciplinas” (Rabinow,
1999, p. 80), o que talvez seja verdadeiro para o caso das
influências da Antropologia na História – para usar um
termo démodé –, a prática microanalítica tem recolhido as
boas lições da antropologia interpretativa, sabendo-se,
contudo, que ambas não se confundem. Afinal de contas,
“[...] os ‘discursos’ exaustiva e densamente interpretados
pelos micro-historiadores são resíduos de um passado
morto, proferidos por mortos e não raro por múltiplas
mediações, incluindo os algozes dos protagonistas”
(Vainfas, 2002, p. 125).
Não se pode exigir da micro-história (talvez nem
da Antropologia) que a análise do particular ilumine ne-
cessariamente o geral. De outra parte, nenhum historia-
dor gostaria, de bom grado, de ser identificado como um
localista, pois “[...] el localismo convierte los objectos en
incomparables y los hace exclusivamente interesantes para
los nativos” (Serna e Pons, 2002, p. 111). Não parece
razoável a qualquer perspectiva historiográfica atual assu-
mir como tema “a crônica miserável de uma aldeia obs-
cura” (apud Burke, 1992, p. 341). E, neste caso, talvez
não faça muita diferença que se faça a história das aldeias
ou nas aldeias. Certamente, muitas coisas ficaram de fora,
não foram ditas, restaram apenas anunciadas. Que a pre-
cariedade do nosso discurso seja motivo para renovar a
boa vontade de retificá-lo na réplica.
Referências
203
BURKE, P. 1992. A história dos acontecimentos e o renascimento da narrativa.
In: BURKE, P. (org.). A escrita da história. Novas perspectivas. São Paulo, UNESP,
p. 327-348.
CALVINO, Í. 1991. O castelo dos destinos cruzados. São Paulo, Companhia das
Letras, 157 p.
CONSTANTINO, N.S. de. 2004. O que a micro-história tem a nos dizer sobre
o regional e o local? História UNISINOS, 8(10): neste número; ver página
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 203 24/1/2005, 11:38
inicial-final após provas.
CORREA, S.M.S. 2002. História local e seu devir historiográfico. Métis. Revis-
ta de História da Universidade de Caxias do Sul, 1(2):11-32.
ELMIR, C.P. 2004. O enredo como categoria e como método de análise. In:
ELMIR, C.P. (org.). A história devorada. No rastro dos crimes da Rua do Arvoredo.
Porto Alegre, Escritos, p. 95-109.
GINZBURG, C. 1991. O nome e o como. Troca desigual e mercado
historiográfico. In: GINZBURG, C.; CASTELNUOVO, E. e PONI, C. (orgs.).
A micro-história e outros ensaios. Rio de Janeiro /Lisboa, Bertrand Brasil /Difel,
p.169-178.
LEVI, G.1992. Sobre a micro-história. In: BURKE, P. (org.). A escrita da histó-
ria. Novas perspectivas. São Paulo, UNESP, p. 133-161.
MAYBURY-LEWIS, D. 2002. A antropologia numa era de confusão. Revista
Brasileira de Ciências Sociais, 17(50):15-23.
PESAVENTO, S.J. 2000. Esta história que chamam micro. In: In: GUAZZELLI,
C.A.B.; PETERSEN, S.R.F. ; SCHMIDT, B.B. E XAVIER, R.C.L. (org.).
Questões de teoria e metodologia da história. Porto Alegre, Editora da UFRGS, p.
209-234.
PESAVENTO, S.J. 2004. O corpo e a alma do mundo. História UNISINOS,
8(10): neste número; ver página inicial-final após provas.
PETERSEN, S.R.F. 2003. Escala e legitimidade: desafios da pesquisa na Pós-
Graduação. História UNISINOS, 7(8):171-188.
RABINOW, P. 1999. Representações são fatos sociais: modernidade e pós-
modernidade na antropologia. In: RABINOW, P. (org.). Antropologia da razão.
Rio de Janeiro, Relume Dumará, p. 71-107.
REVEL, J. 1998. Microanálise e construção do social. In: REVEL, J. (org.).
Jogos de escalas. A experiência da microanálise. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio
204 Vargas, p.15-38.
REVEL, J. 2000. A história ao rés do chão (Prefácio). In: LEVI, G (org.). A
herança imaterial. Trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. Rio de
Janeiro, Civilização Brasileira, p. 7-37.
SANTOS, B.S.. 1996. Um discurso sobre as ciências. 8a ed. Porto: Afrontamento, 58 p.
SANTOS, B.S. 2000. Da ciência moderna ao novo senso comum. In: SAN-
TOS, B.S. (org.). A crítica da razão indolente. Vol.1. São Paulo, Cortez, p.
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 204 24/1/2005, 11:38
55-117.
SEFFNER, F. 1997. Presença das idéias positivistas nas “Histórias de Municípi-
os” do Rio Grande do Sul. Uma tentativa preliminar de mapeamento e análise.
Ciências & Letras, 18:143-161.
SERNA, J. e PONS, A. 2002. En su lugar. Una reflexión sobre la historia local
y el microanálisis. Prohistoria, Rosario, 6(6):107-126.
VAINFAS, R. 2002. Os protagonistas anônimos da história. Micro-história. Rio de
Janeiro, Campus, 168 p.
WEBER, R. 2003. O que a micro-história tem a nos dizer sobre o regional e o local.
São Leopoldo, UNISINOS (texto inédito).
205
HISTÓRIA UNISINOS Vol. 8 Nº 10 JUL/DEZ 2004
Historia10.p65 205 24/1/2005, 11:38
Historia10.p65 206 24/1/2005, 11:38
Instruções aos autores
A revista História UNISINOS é uma publicação semestral da Universida-
de do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Serão aceitos para publicação, artigos
inéditos de História e disciplinas afins, informes parciais de pesquisa em desenvol-
vimento, documentos inéditos, resenhas críticas e notas relativas a eventos.
Os artigos podem ser enviados eletronicamente ou pelo correio, em versão
eletrônica. No caso do artigo conter imagens fotográficas e/ou desenhos gráficos,
estes deverão ser submetidos em seu formato original, em arquivos separados, não
inseridos no texto. Cada arquivo deverá ser identificado no seguinte formato:
sobrenome do primeiro autor - mês e ano da submissão – texto ou figura (conforme
o caso). Deve ser indicado no arquivo de texto o local aproximado onde devem ser
inseridas as figuras, com títulos no idioma do artigo e em inglês.
A matéria dos originais deverá conter, na seguinte ordem:
Folha de rosto separada, com os seguintes da-
dos:
o Título do texto;
o Nome e titulação do(s) autor(es);
o Endereço, telefone e e-mail para contato;
o Vínculo institucional do(s) autor(es);
Resumo em um único parágrafo, com até 20 li-
nhas acompanhado de pelo menos três palavras-
chave;
Abstract em inglês, seguindo as mesmas normas
do Resumo;
Texto completo do artigo, sem indicação de au-
toria, escrito em Times New Roman 12 pt e com
espaçamento de 1,5;
As citações no interior do texto devem obedecer as seguintes normas:
Historia10.p65 207 24/1/2005, 11:38
um autor (Leipnitz, 1987); dois autores (Turner e Verhoogen, 1960); três ou
mais autores (Amaral et al., 1966). Trabalhos com mesmo(s) autor(es) e mesma
data devem ser distinguidos por letras minúsculas logo após a data. Não utilizar
op. cit. e evitar o uso de apud, preferindo in.
As referências bibliográficas devem ser listadas ao final do texto, em
ordem alfabética, em 10 pt e com espaçamento de 1,5 como no modelo abaixo:
Artigos de periódicos:
PEREIRA, N.C. 1996. Malditas, gozosas e devotas – mulher e religião
(Dossiê Ivone Gebara). Revista Mandrágora, 3(3):9-16.
Artigos de publicações seriadas:
BARBOSA, O.; BRAUN, O.P.G.; DYER,R.C. e CUNHA, C.A.B.R.
1970. Geologia da região do Triângulo Mineiro, Rio de Janeiro,
DNPM/PFPM, (Boletim 136), 140 p.
VICALVI, M.A.; KOTZIAN, S.C.B. e FORTI-ESTEVES, I.R. 1977.
A ocorrência da microfauna estuarina no Quaternário da platafor-
ma continental de São Paulo. In: Evolução sedimentar Holocênica
da plataforma continental do talude do sul do Brasil, Rio de Janeiro,
CENPES/DINTEP. Petrobrás, Série Projeto REMAC 2, p. 77-97.
Artigos de publicações relativas a eventos:
BIONDI, J.C. 1982. Kimberlitos. In: CONGRESSO BRASILEIRO
DE GEOLOGIA, 32, Salvador, 1982. Anais... Salvador, SBG.
2:452-464.
Livros:
FENTRESS, J. e WICKHAM, C. 1992. Memória social. Lisboa,
Teorema, 278 p.
Capítulos de livros:
CATROGA, F. 2001. Memória e história. In: S. PESAVENTO (org.),
Fronteiras do milênio. Porto Alegre, Ed. Universidade/UFRGS, p.
43-69.
Teses:
TAGLIANI, C.R.A. 1997. Proposta para o Manejo Integrado da Explora-
ção de Areia no Município Costeiro de Rio Grande – RS. Um Enfoque
Sistêmico. São Leopoldo, RS. Dissertação de Mestrado. Universi-
dade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, 158 p.
Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Prof. Marcos Justo Tramontini
Editor da revista História UNISINOS
Av. Unisinos, 950
93022-000 São Leopoldo, RS, Brasil
E-mail: revistas@helios.unisinos.br
Historia10.p65 208 24/1/2005, 11:38
Você também pode gostar
- Jörn Rüsen - Teoria Da História - Uma Teoria Da História Como CiênciaDocumento318 páginasJörn Rüsen - Teoria Da História - Uma Teoria Da História Como CiênciaRubia Janz86% (7)
- Chartier, Roger - A História Ou A Leitura Do TempoDocumento47 páginasChartier, Roger - A História Ou A Leitura Do TempoPriscila Oliveira100% (2)
- Durval Muniz Albuquerque Júnior - O Tecelão Dos Tempos (Novos Ensaios de Teoria Da História) - Intermeios (2019)Documento284 páginasDurval Muniz Albuquerque Júnior - O Tecelão Dos Tempos (Novos Ensaios de Teoria Da História) - Intermeios (2019)Larisse EliasAinda não há avaliações
- Teorizar Aprender e Ensinar - Revisto para AutoresDocumento345 páginasTeorizar Aprender e Ensinar - Revisto para Autoresjonny freitas100% (1)
- 2003 - História Cultural - Experiências de PesquisaDocumento252 páginas2003 - História Cultural - Experiências de PesquisaAntônio Barros100% (1)
- BITTENCOURT Circe Ensino de Historia Fundamentos e Metodos PDFDocumento243 páginasBITTENCOURT Circe Ensino de Historia Fundamentos e Metodos PDFEric Aline100% (2)
- Teoria da História e História da Historiografia Brasileira dos séculos XIX e XX: EnsaiosNo EverandTeoria da História e História da Historiografia Brasileira dos séculos XIX e XX: EnsaiosAinda não há avaliações
- 01 Favoritos OvnisDocumento54 páginas01 Favoritos Ovnisanicases20870% (1)
- Marcos Costa - A Historia Do Brasil para Quem Tem PressaDocumento167 páginasMarcos Costa - A Historia Do Brasil para Quem Tem PressaLeandro MartinsAinda não há avaliações
- 2004 - Crônica Fronteiras Da Narrativa Histórica - O Corpo e Alma Do Mundo. A Micro-Histório e A Construção Do Passado PDFDocumento45 páginas2004 - Crônica Fronteiras Da Narrativa Histórica - O Corpo e Alma Do Mundo. A Micro-Histório e A Construção Do Passado PDFPriscila CerqueiraAinda não há avaliações
- Quinze de Novembro - E-BookDocumento142 páginasQuinze de Novembro - E-BookLuciane campana TomasiniAinda não há avaliações
- CARDOSO, Ciro Flamarion. Um Historiador Fala de Teoria e MetodologiaDocumento286 páginasCARDOSO, Ciro Flamarion. Um Historiador Fala de Teoria e MetodologiaafonsomalechaAinda não há avaliações
- Construindo o conhecimento históricoDocumento31 páginasConstruindo o conhecimento históricoDanielle Pinheiro TeixeiraAinda não há avaliações
- Os Teóricos Da Histórias Têm Uma Teoria Da História?Documento55 páginasOs Teóricos Da Histórias Têm Uma Teoria Da História?cristianoppcAinda não há avaliações
- Michelan KB Me FranDocumento115 páginasMichelan KB Me FranDaniel BorgesAinda não há avaliações
- Livro-Historia e Historiografia MIOLODocumento336 páginasLivro-Historia e Historiografia MIOLOAmauri Dias100% (1)
- O trabalho do historiador e o passado no presenteDocumento22 páginasO trabalho do historiador e o passado no presenteGabriel Domingues Rocha e SilvaAinda não há avaliações
- Entre eixos, ângulos e pontesDocumento205 páginasEntre eixos, ângulos e pontesClodson SantosAinda não há avaliações
- CHARTIER, Roger - A - Historia Ou A Leitura Do Tempo.Documento47 páginasCHARTIER, Roger - A - Historia Ou A Leitura Do Tempo.LeoMenezAinda não há avaliações
- História e Literatura: Minicursos InterdisciplinaresDocumento9 páginasHistória e Literatura: Minicursos InterdisciplinaresMatheus BonfimAinda não há avaliações
- História em Quadrinhos em Perspectiva para o Ensino de HistóriaDocumento25 páginasHistória em Quadrinhos em Perspectiva para o Ensino de HistóriaDesalinho PublicaçõesAinda não há avaliações
- Nossa Africa - Ensino e Pesquisa - Ebook PDFDocumento230 páginasNossa Africa - Ensino e Pesquisa - Ebook PDFReginâmio100% (1)
- Micro Historia Trajetoria e Imigracao EDocumento267 páginasMicro Historia Trajetoria e Imigracao EFabio Albert MesquitaAinda não há avaliações
- 2010 Cultura Historica e HistoriografiaDocumento264 páginas2010 Cultura Historica e HistoriografiaMyziara MirandaAinda não há avaliações
- CHARTIER, R. - A História Ou A Leitura Do TempoDocumento44 páginasCHARTIER, R. - A História Ou A Leitura Do TempoLourenço Loureiro100% (2)
- Revista Historien #6Documento130 páginasRevista Historien #6Zid SantosAinda não há avaliações
- Limites e Possibilidades Do Conhecimento Histórico HojeDocumento19 páginasLimites e Possibilidades Do Conhecimento Histórico HojeElvis TrindadeAinda não há avaliações
- Keith JenkinsDocumento14 páginasKeith JenkinsDanielic63Ainda não há avaliações
- Memória e Materialidade: Interpretações sobre AntiguidadeNo EverandMemória e Materialidade: Interpretações sobre AntiguidadeAinda não há avaliações
- 2008 Dis AaroliveiraDocumento184 páginas2008 Dis AaroliveiraProf. Thales ValerianoAinda não há avaliações
- E-Book História em PerspectivaDocumento175 páginasE-Book História em PerspectivaThiago SilvaAinda não há avaliações
- História do Liceu Cuiabano Maria de Arruda MullerDocumento28 páginasHistória do Liceu Cuiabano Maria de Arruda MullerKira KitsuneAinda não há avaliações
- franciscodamasceno,+2-+A+arte+atrás+do+palco+caminhos+domésticos+do+cantador+João+Siqueira+de+Amorim+e+a+memória+de+Dona+Raimunda+Siqueira+de+ADocumento20 páginasfranciscodamasceno,+2-+A+arte+atrás+do+palco+caminhos+domésticos+do+cantador+João+Siqueira+de+Amorim+e+a+memória+de+Dona+Raimunda+Siqueira+de+ALucas SantosAinda não há avaliações
- Introdução à História: conceitos, métodos e evoluçãoDocumento33 páginasIntrodução à História: conceitos, métodos e evoluçãoWilson MirandaAinda não há avaliações
- Discussão sobre Etnohistória e História IndígenaDocumento8 páginasDiscussão sobre Etnohistória e História IndígenaRangel TavaresAinda não há avaliações
- MOLLO, Helena Miranda, SILVA, Rodrigo Machado Da. Abordagens e Representações Narrativas PDFDocumento318 páginasMOLLO, Helena Miranda, SILVA, Rodrigo Machado Da. Abordagens e Representações Narrativas PDFDaiane Rossi100% (1)
- Semana de HistóriaDocumento103 páginasSemana de HistóriaDesireeAinda não há avaliações
- CHARTIER, Roger. A História Ou A Leitura Do Tempo PDFDocumento47 páginasCHARTIER, Roger. A História Ou A Leitura Do Tempo PDFPriscila BermudesAinda não há avaliações
- História da Historiografia revistaDocumento185 páginasHistória da Historiografia revistaValeri CarvalhoAinda não há avaliações
- A Historiografia Como Ferramenta para Contar A Historia Da MusicaDocumento17 páginasA Historiografia Como Ferramenta para Contar A Historia Da MusicaRodrigo CarvalhoAinda não há avaliações
- Cascudo, Teresa - Música e Identidade Na Obra de F. L. GraçaDocumento23 páginasCascudo, Teresa - Música e Identidade Na Obra de F. L. GraçaNFTWOAinda não há avaliações
- Consciencia RusenDocumento47 páginasConsciencia RusenCaroline MagossiAinda não há avaliações
- Campo MonicaBrincalepe Martel Brant FichadoDocumento154 páginasCampo MonicaBrincalepe Martel Brant Fichadodiego haaseAinda não há avaliações
- Capítulo 1 História Da Cultura Escrita AutênticaDocumento19 páginasCapítulo 1 História Da Cultura Escrita AutênticaRamona Halley RosárioAinda não há avaliações
- A missão na literatura: A redução jesuítica em A fonte de O tempo e o ventoNo EverandA missão na literatura: A redução jesuítica em A fonte de O tempo e o ventoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- História e Ciência - relação passado/presenteDocumento28 páginasHistória e Ciência - relação passado/presenteMercenarios FuriozosAinda não há avaliações
- Cultura Histórica e Historiografia LegaDocumento267 páginasCultura Histórica e Historiografia Legakatiana alencar100% (4)
- RUSEN, Jorn. Historia Viva Teoria Da Historia Formas e Funcoes Do ConhecimentoDocumento82 páginasRUSEN, Jorn. Historia Viva Teoria Da Historia Formas e Funcoes Do ConhecimentoVinicius MorettiAinda não há avaliações
- Arqueologia e Tradiçâo Oral.Documento204 páginasArqueologia e Tradiçâo Oral.David AbellaAinda não há avaliações
- Usos da história: reflexões sobre identidade e sentidoDocumento8 páginasUsos da história: reflexões sobre identidade e sentidoRogério MattosAinda não há avaliações
- Plano de Disciplina Introducao Ao EstudoDocumento8 páginasPlano de Disciplina Introducao Ao EstudoTiago Santos AlmeidaAinda não há avaliações
- BENTIVOGLIO, Julio; ANDRADE, Kelly Alves. História e LiteraturaDocumento130 páginasBENTIVOGLIO, Julio; ANDRADE, Kelly Alves. História e LiteraturaLeticia SantosAinda não há avaliações
- Artigo - O Global Como Nova Era Da História PDFDocumento335 páginasArtigo - O Global Como Nova Era Da História PDFLuiza Ribeiro AnteloAinda não há avaliações
- O Oficio Das Palavras ParunaDocumento370 páginasO Oficio Das Palavras ParunaCristiano AntonioAinda não há avaliações
- História, relação passado-presenteDocumento26 páginasHistória, relação passado-presenteOberdan LeonelAinda não há avaliações
- Idade Média No CinemaDocumento71 páginasIdade Média No CinemaViviani ServilhaAinda não há avaliações
- Aula 1 - PostarDocumento15 páginasAula 1 - PostarDaniel BarbosaAinda não há avaliações
- Coletânea Sacralidades - em Memória de MimDocumento44 páginasColetânea Sacralidades - em Memória de MimMonitoria MedievalAinda não há avaliações
- Um guia seguro para a vida bem-sucedida: Exemplaridade e arte retórica no pensamento histórico modernoNo EverandUm guia seguro para a vida bem-sucedida: Exemplaridade e arte retórica no pensamento histórico modernoAinda não há avaliações
- Imaginários, Poderes e Saberes: História Medieval e Moderna em DebateNo EverandImaginários, Poderes e Saberes: História Medieval e Moderna em DebateNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Tecendo Histórias: Memória, Verdade e Direitos HumanosNo EverandTecendo Histórias: Memória, Verdade e Direitos HumanosAinda não há avaliações
- Rumos da História: compreensões do passado e pesquisas entre áreas: - Volume 2No EverandRumos da História: compreensões do passado e pesquisas entre áreas: - Volume 2Ainda não há avaliações
- Governo DutraDocumento14 páginasGoverno DutraAlexsandra BritoAinda não há avaliações
- Christian Laville - Guerra Das NarrativasDocumento14 páginasChristian Laville - Guerra Das NarrativasMykel AlexanderAinda não há avaliações
- COLOMBO - Historia Do Misterio, - Manuel Da Silva RosaDocumento147 páginasCOLOMBO - Historia Do Misterio, - Manuel Da Silva Rosaanderson mirandaAinda não há avaliações
- História do Cristianismo em 2 VolumesDocumento2 páginasHistória do Cristianismo em 2 VolumesCarina BastosAinda não há avaliações
- Metodologia Educaçao InfantilDocumento22 páginasMetodologia Educaçao InfantilGrazi Dias100% (3)
- AGNI O FOGO SAGRADO Professor Henrique José de SouzaDocumento12 páginasAGNI O FOGO SAGRADO Professor Henrique José de SouzaTiago Dalan100% (1)
- A Teologia de Karl Barth e a ReformaDocumento48 páginasA Teologia de Karl Barth e a ReformaLeonardo AlvarengaAinda não há avaliações
- Lei 10.639 e questões sobre História e Cultura Afro-BrasileiraDocumento13 páginasLei 10.639 e questões sobre História e Cultura Afro-BrasileiraFabiane Brambati BianchiAinda não há avaliações
- Animais Como Sujeitos de Direito No Ordenamento Jurídico Brasileiro. Uma Perspectiva Ético-Legal.Documento104 páginasAnimais Como Sujeitos de Direito No Ordenamento Jurídico Brasileiro. Uma Perspectiva Ético-Legal.carolinaeidAinda não há avaliações
- Bock Psicologias Umaintroduc3a7c3a3o PDocumento10 páginasBock Psicologias Umaintroduc3a7c3a3o PBrunoPelegriniAinda não há avaliações
- Música de Feitiçaria No Brasil - Conferência Literária PDFDocumento8 páginasMúsica de Feitiçaria No Brasil - Conferência Literária PDFRadamir SousaAinda não há avaliações
- História do Brasil no século XXDocumento2 páginasHistória do Brasil no século XXAdemir DiasAinda não há avaliações
- Educação, Memória e Identidade: Dimensões Imateriais Da Cultura Material EscolarDocumento25 páginasEducação, Memória e Identidade: Dimensões Imateriais Da Cultura Material EscolarSandro LuzAinda não há avaliações
- SILVA, Renato - Araujo.da - Escritos.afro Brasileiros.2016.Vol.1Documento933 páginasSILVA, Renato - Araujo.da - Escritos.afro Brasileiros.2016.Vol.1renato100% (2)
- Discursos das Elites sobre a Bahia RepublicanaDocumento339 páginasDiscursos das Elites sobre a Bahia RepublicanaDanilo Ornelas0% (1)
- Lista Dos Livros (Actuais) 02.10.21Documento54 páginasLista Dos Livros (Actuais) 02.10.21ZézaAinda não há avaliações
- História Econômica. Considerações Sobre Um Campo DisciplinarDocumento157 páginasHistória Econômica. Considerações Sobre Um Campo DisciplinarJosé Costa D'Assunção Barros100% (1)
- História Da Segurança Do Trabalho No MundoDocumento15 páginasHistória Da Segurança Do Trabalho No MundoMilton FilipeAinda não há avaliações
- Espaços e Paisagens - Antiguidade Clássica e Heranças Contemporâneas PDFDocumento43 páginasEspaços e Paisagens - Antiguidade Clássica e Heranças Contemporâneas PDFLuciano Silva do NascimentoAinda não há avaliações
- O Caso de Reencarnação Mais Estudado AtualmenteDocumento2 páginasO Caso de Reencarnação Mais Estudado AtualmentePaulo RodriguesAinda não há avaliações
- INGLÊS - APRENDENDO PALAVRAS COM RADICAIS - Estude Um Radical Greco-Latino para Aprender Muitas Pa - Abulário em Inglês Com Morfemas Latinos e Gregos!Documento10 páginasINGLÊS - APRENDENDO PALAVRAS COM RADICAIS - Estude Um Radical Greco-Latino para Aprender Muitas Pa - Abulário em Inglês Com Morfemas Latinos e Gregos!yagogierlini2167Ainda não há avaliações
- Wa0013.Documento3 páginasWa0013.Josue SantosAinda não há avaliações
- 1 4929227231386927222Documento4 páginas1 4929227231386927222Professor Conectado0% (1)
- Jornal RascunhoDocumento48 páginasJornal RascunhoMauro Franco0% (1)
- Tres Forquilhas 1949 1974Documento65 páginasTres Forquilhas 1949 1974eliomullerAinda não há avaliações
- Marie-Helene Catherine Torres. Traduzir o Brasil LiterarioDocumento402 páginasMarie-Helene Catherine Torres. Traduzir o Brasil LiterarioRodrigo D'AvilaAinda não há avaliações
- A mentalidade messiânica do povo sertanejo na Guerra do ContestadoDocumento10 páginasA mentalidade messiânica do povo sertanejo na Guerra do ContestadoLeonardoGalvãoAinda não há avaliações
- Informativo Paróquia Santa Efigênia Dos Militares - #02Documento8 páginasInformativo Paróquia Santa Efigênia Dos Militares - #02Ivana MoreiraAinda não há avaliações