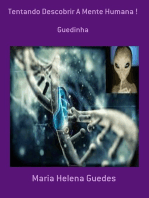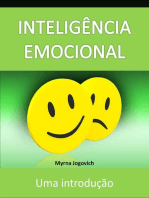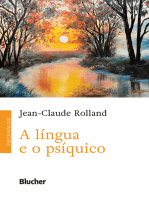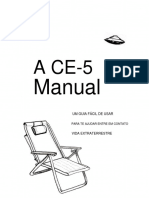Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Mente e Mente André Leclerc
Enviado por
Manoel AlvesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Mente e Mente André Leclerc
Enviado por
Manoel AlvesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ISSN 0104-4443
Licenciado sob uma Licença Creative Commons
[T]
Mente e “mente”
[I]
Mind and “mind”
[A]
André Leclerc
Doutor em Filosofia pela Universite du Quebec, professor associado da Universidade Federal
do Ceará (UFC/CNPq), Fortaleza, CE - Brasil, e-mail: andre.leclerc@pq.cnpq.br
[R]
Resumo
Antes de perguntar “o que é a mente?” devemos indagar “o que enten-
demos por ‘mente’”? A compreensão vem primeiro na ordem da expli-
cação e da análise. Tentarei, portanto, responder à segunda pergunta
usando um método de análise do significado, inspirado nos contextua-
listas em filosofia da linguagem, um método que respeita o uso efetivo
e comum que constitui sempre nosso ponto de partida, e que permite
isolar um núcleo de sentido. Esse núcleo de sentido é modulado em
contexto; podemos assim marcar as pequenas diferenças que sempre
aparecem num contexto específico de uso. É minha convicção que parte
dos problemas encontrados na filosofia da mente vem do fato de que
“mente” não é um termo de espécie natural e não parece designar algo
homogêneo e bem unificado. Nosso conceito de mente é atrelado aos
usos da palavra. O objetivo da primeira parte é encontrar o núcleo de
sentido associado ao termo “mente” e que uma análise contextualista
do significado tem como objetivo de revelar. Em resposta à primeira
pergunta, tentarei apresentar uma visão geral da mente como algo não
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 22, n. 30, p. 13-26, jan./jun. 2010
14 LECLERC, A.
substancial, de natureza representacional, que depende do funcionamento
eletroquímico do cérebro, mas que não pode possuir uma localização
no cérebro.
[P]
Palavras-chave: Mente. Análise lógico-linguística. Núcleo de sentido.
Contextualismo.
[B]
Abstract
We should first ask “what do we understand by ‘mind’?” before asking
“what is mind”? Understanding comes first in the order of explana-
tion and analysis. Therefore, I shall try to answer the first question, by
using a method of meaning analysis, inspired by the Contextualists in
the philosophy of language, a method which respects the common and
actual use of words, which always constituted our inevitable starting
point. The aim of such a method is to determine a core meaning which
is modulated in specific contexts of use. I am convinced that part of the
problems we face in the philosophy of mind comes from the fact that
‘mind’ is not a natural kind term, one that does not seem to denote
something homogeneous or well-unified. Our concept of mind, initially,
is tied to the uses of the word. The aim of the first part is to find a core of
sense associated to the word ‘mind’; a contextualist analysis of mean-
ing could help to reveal it. As an answer to the second question I shall
present very briefly an overview of the mind as something “unsubstan-
tial”, representational in nature, but that cannot have localization in
the brain.
[K]
Keywords: Mind. Logical-linguistic analysis. Core meaning. Contextualism.
A maioria dos filósofos da mente começa a tratar do assunto sem
se preocupar muito em delimitá-lo e defini-lo, pressupondo um conceito de
mente que, pelo menos inicialmente, é o conceito de senso comum. Mas logo
a tendência a arregimentar a linguagem e o conceito de mente se manifesta,
afastando-o de suas raízes. O objetivo deste pequeno texto preliminar é re-
cuperar este solo primitivo e nele elaborar uma noção de mente mais bem
unificada, usando um método de análise lógico-linguística inspirado em
Wittgenstein, Austin e nos contextualistas atuais.
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 22, n. 30, p. 13-26, jan./jun. 2010
Mente e “mente” 15
Nossas perplexidades
É difícil imaginar algo mais íntimo do que nossa própria vida mental
ou nossa mente; ela é tão íntima na verdade que a tentação é grande de reduzir
o que somos a ela. Todo mundo lembra a famosa passagem de Descartes na
Segunda de suas Meditações Metafísicas: “Mas eu, que sou eu...? Sou uma
coisa que pensa...”, respondeu (DESCARTES, 1970, p. 43).1 Ele pensava
também (dele mesmo) que o pensamento é o único atributo “que não pode ser
separado de mim”. Como algo tão íntimo pode ser tão pouco conhecido e se
tornar fonte de tanta perplexidade?
A mente já foi objeto de uma coleção respeitável de afirmações contra-
ditórias. Nem sua própria existência é consensual, sendo negada por alguns
(Churchland, Davidson2) e considerada inegável por outros – na verdade, a
maioria dos filósofos da mente, por exemplo, Searle (1983, 1992) e Armstrong
(19993). Descartes acreditava que a mente não possui nenhuma das proprieda-
des das coisas extensas, em particular que ela não tem nenhuma localização
espacial; o pampsiquismo, pelo menos em algumas versões, afirma que a men-
te está em toda parte no mundo físico. Os fisicalistas, reducionistas ou não,
costumam aceitar que a mente está na cabeça, pois tudo o que qualificamos de
“mental”, para eles, é idêntico a algum evento neuronal, ou sobrevém direta-
mente da atividade eletroquímica do cérebro – é determinado por essa atividade
e fica na dependência da mesma; os externistas negam tudo isso (identidade
mente-cérebro bem como superveniência local mente-cérebro) e acreditam,
como Descartes – mas por razões totalmente diferentes –, que a mente não está
na cabeça. Como Dretske já disse, a mente e as experiências conscientes têm
essa curiosa “qualidade diáfana, a de estarem sempre presentes quando procu-
ramos por elas, mas nunca onde nós as procuramos” (DRETSKE, 1995, p. 13).
1
«Mais qu’est-ce donc que je suis? Une chose qui pense».
2
Ver o artigo “Donald Davidson” escrito pelo próprio Davidson, onde afirma: “There are
no such things as minds, but people have mental properties, which is to say that certain
psychological predicates are true of them.” GUTTENPLAN, S. (Org.). A companion to the
philosophy of mind. Oxford: Blackwell, 1994. p. 231. Esse dualismo das propriedades deve
ser entendido, portanto, como a afirmação de que mentes não são “coisas”, algo com o qual
concordamos. Ver também: CHURCHLAND, P. Matter and consciousness. Cambridge,
MA: MIT Press, 1988.
3
“My own position is Compatibilist. But if persuaded (say by an Eliminativist) that
Incompatibilism is true, I would then (reluctantly) turn Dualist, because the existence of the
mental seems to me to be pretty well undeniable.”
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 22, n. 30, p. 13-26, jan./jun. 2010
16 LECLERC, A.
Meu objetivo neste breve texto é examinar uma hipótese relativa ao
significado da palavra “mente” e suas consequências para a filosofia da mente.
A palavra “mente” não é um termo de espécie natural e não parece designar
algo que seja bem unificado ou homogêneo. Os vários usos que a palavra
herda da sua correspondente em latim são vinculados por laços familiares às
vezes pouco rígidos. Aplicamos a palavra em contextos mais ou menos simi-
lares, de tal maneira que uma análise contextualista de seu significado pode
revelar qual o núcleo de sentido da palavra “mente” pode ser modulado nesses
contextos. O resultado poderá ajudar a encontrar uma resposta aceitável à per-
gunta seguinte: “o que é a mente?”.
Nossa análise: o que significa “mente”?
Todos nós temos uma noção de senso comum sem a qual nem
poderíamos entender o sentido da palavra “mente” e usá-la corretamente. Mas
o que entendemos por “mente”? Essa noção de senso comum reúne, sob o
mesmo guarda-chuva, coisas diversas, unidas por laços familiares nem sem-
pre muito fortes. Usamos regularmente expressões como “ter algo em mente”,
“ter a mente aberta”, ou outras expressões associadas ou derivadas como
“atividades mentais”, “imagens mentais”, “calcular mentalmente”, etc. O por-
tuguês também tem os verbos “mentalizar” e “mentar”.
Podemos apresentar pelo menos uma descrição inicial, a mais neutra
possível, do que se deve entender por “mente”, ou pelo menos listar o que
consideramos como “mental”. A seguinte lista pode certamente constituir um
bom ponto de partida para refletir sobre as coisas que classificamos sem
hesitação como mentais:
1) As percepções externas das coisas e pessoas que identificamos e que
nos cercam constantemente, e também as percepções “internas” (às
vezes dizemos que “percebemos” coisas na imaginação, na memória
e nos sonhos, que percebemos uma distinção, etc.);
2) As sensações de cores, texturas, timbres, etc., e as sensações que
acompanham cada um de nossos movimentos e que chamamos de
“propriocepções”; as dores e prazeres de várias intensidades que, in-
felizmente ou por nosso bem, sentimos constantemente. Temos aqui
o domínio dos qualia, características qualitativas das experiências
conscientes, presentes também nas percepções;
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 22, n. 30, p. 13-26, jan./jun. 2010
Mente e “mente” 17
3) As imagens mentais que acompanham atividades (mentais) como
imaginar algo (existente ou inexistente), se lembrar, antecipar, etc.;
4) Atitudes proposicionais ou estados providos de conteúdo conceitual
que podemos ter pontualmente ou durante certo tempo a título de
disposição, como acreditar que a Seleção brasileira ganhou a Copa
do Mundo de 2002, ter a intenção de viajar à China daqui a dois
anos, desejar casar com a rainha de Tebas, etc.;
5) O domínio das emoções: sentir medo, recear, criar coragem, ficar
triste ou alegre, se emocionar, sentir vergonha ou orgulho;
6) Atos ou operações como conceber, julgar, decidir, deliberar, racioci-
nar, ordenar, se lembrar, etc.;
7) As disposições, em geral, além das atitudes proposicionais já men-
cionadas: capacidades (como reconhecer os rostos), habilidades (falar
uma língua, dirigir um carro, adicionar, dividir, multiplicar mental-
mente, etc.), ou ainda ter senso de humor, ser honesto ou mentiroso,
ser fumante, gostar da música de Handel, saber tocar piano, etc.
Chamamos de “mental” e colocamos na mesma cesta uma coceira
nas costas e a disposição a afirmar que a força é igual ao produto da massa
pela aceleração; uma dor intensa e a crença tranquila e despreocupada de que
um nêutron é uma partícula de carga zero; a percepção de uma cor quente
(um tomate bem maduro) e a alegria causada pela vitória de seu time favo-
rito; um orgasmo e uma deliberação sobre o melhor presente a comprar para
o aniversário de seu filho. Alguns eventos “mentais” (percepção das cores,
orgasmo, coceira, etc.) dependem aparentemente de uma covariação causal
com o funcionamento de um subsistema biológico, enquanto outros eventos
(decidir, deliberar, acreditar, desejar, etc.) envolvem a aplicação de con-
ceitos e têm uma dimensão claramente normativa. A distinção tradicional
entre sensibilidade e entendimento parece refletir uma divisão profunda no
assunto. Mas uma separação da “mente fenomenal” dos outros “poderes da
mente” não parece muito promissora. A percepção, por exemplo, envolve a
aplicação constante de conceitos na identificação do percebido. Posso ver um
voltímetro sem ver que há um voltímetro na minha frente. Percepção im-
plica identificação e recognição, e, portanto, a aplicação de conceitos, que
são “representações”.
Aqui, como em muitos outros casos em filosofia e nas ciências, a
tentação é grande de arregimentar um pouco a linguagem para avançar numa
direção mais bem definida. Acho importante resistir um pouco, pelo menos
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 22, n. 30, p. 13-26, jan./jun. 2010
18 LECLERC, A.
inicialmente, a esta tentação para compreender melhor o conceito mais co-
mum de mente.
Os filósofos da mente tentam ir além do senso comum e oferecer
respostas mais elaboradas à questão “o que é a mente?” ou “o que signifi-
ca ‘mente’?”. Assim, inevitavelmente, eles arregimentam e redimensionam
o significado da palavra “mente”. Mas a arregimentação também cria proble-
mas, ao nos afastar do uso corriqueiro, nosso ponto de partida obrigatório.
Descartes não reconhecia a existência de mentes animais, mas estava prestes a
admitir que eles possuem algum tipo de sentimento dependendo imediatamen-
te do funcionamento causal do organismo; portanto, estes sentimentos não se
qualificam como “mentais”, pois dependem do funcionamento da máquina
do corpo. Os behavioristas consideram que se algo merece o qualificativo de
“mental”, em substituição da noção tradicional que substancializa a vida men-
tal, são as disposições e comportamentos; mas, neste caso, a imaginação de
um cubo vermelho não contaria como “mental” ou resistiria à inclusão nas
categorias do behaviorista. Os intencionalistas estimam que a intencionalida-
de seja a “marca do mental”, como pensava Brentano; mas alguns entre eles,
como Searle, não aceitam que uma experiência consciente como a dor seja
“acerca de” algo. O funcionalismo, uma das principais tendências da filosofia
da mente das últimas décadas (desde os anos 60), foi criticado fortemente em
razão do tratamento da consciência e dos qualia que aparecem como “não
essenciais” (FLANAGAN, 1992).
Na filosofia da linguagem comum desenvolvida recentemente pelos
contextualistas (particularmente Charles Travis, François Recanati, Julius
Moravcsik e Anne Bezuidenhout), o portador das propriedades semânticas
são tokens produzidos por locutores em contexto, são atos de fala do tipo
atos ilocucionários. O conteúdo verocondicional (a proposição expressa) ou a
compreensão de uma frase dependem de vários fatores contextuais e podem
variar de um contexto de uso para outro, mesmo quando as frases em questão
não contêm indexicais ou demonstrativos. Assim, os exemplares (tokens) de
uma mesma frase-tipo podem, de acordo com o contexto, determinar diferen-
tes condições de verdade. Alguns exemplos ajudarão a perceber melhor este
fenômeno da plasticidade e da modulação do sentido em contexto, um fenô-
meno que não pode ser acomodado na concepção de significado da semântica
clássica e formal. “João caminhou” (exemplo de Moravcsik) será entendida
diferentemente num contexto em que João é um adulto saudável (ele andou
alguns quilômetros para manter a forma), de outros contextos em que João é
um bebê de 10 meses (ele deu seus primeiros passos na vida), ou um idoso no
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 22, n. 30, p. 13-26, jan./jun. 2010
Mente e “mente” 19
hospital tentando se recuperar de uma doença grave (ele andou penosamente
da cama até o banheiro e de volta), ou um atleta que passou recentemente por
uma cirurgia no joelho, etc. Dessa variedade de contextos podemos, seguindo
a sugestão de Moravcsik (1998), identificar certo núcleo de sentido (core
meaning) que poderia ser algo como: “locomover-se com as pernas na posição
apropriada”. Da mesma forma, a frase “há muito café sobre a mesa” (exemplo
de Putnam) poderia contar como uma descrição literal da situação e um con-
vite indireto a se servir. Numa situação bastante diferente, há sacos cheios de
grãos de café sobre a mesa – aqui uma enunciação dessa frase poderia contar
como descrição literal da situação e uma ordem indireta de carregar um
caminhão com aqueles sacos. E finalmente, numa situação em que alguém
derramou café sobre a mesa, uma enunciação da frase poderia contar como
uma descrição literal da situação e como um pedido indireto de limpar uma
poça de café. De novo, nos três casos, o conteúdo verocondicional de cada
enunciação é distinto e se adapta cada vez a uma situação particular. De novo
temos aqui um núcleo de sentido que poderia ser para a palavra “café” algo
como: “produto resultante da secagem, torrefação, e moagem da fruta do
cafeeiro”.4 Isso não quer dizer que a posse deste conceito é uma condição
necessária para o uso correto da palavra “café”; no entanto, um bom lexicó-
grafo deveria chegar, depois de examinar a variedade dos usos, a algo próximo
disso. É o que Austin chamava em Truth (1950/1979) de convenções descri-
tivas, em oposição às convenções demonstrativas. Não existe café-em-geral;
num contexto específico, o café se encontra sempre num estado determinado
indicado pelas convenções demonstrativas (em grãos, em pó, líquido, fresco,
amargo, etc.). A convenção descritiva não pode mencionar esses diversos
estados possíveis, e sim o mínimo que justifica a aplicação da mesma palavra
“café” em contextos diversos com base em juízos de similaridade. As três
descrições literais envolvendo o café podem ser verdadeiras porque elas são
suficientemente similares entre elas para pertencer ao grupo de situações
possíveis fixadas pelas convenções descritivas. Por analogia, qual seria o
núcleo de sentido de “mente”?
A noção de senso comum, nosso ponto de partida, não pode repre-
sentar nenhum consenso estável, longe disso. Aliás, o conhecimento que a
maioria de nós tem do sentido de uma palavra qualquer, na maioria dos casos, é
relativamente pobre em comparação com o conhecimento dos lexicógrafos e
4
A ideia de núcleo de sentido (ou de significado) se encontra em Putnam, já em 1975, The
Meaning of ‘Meaning’, e mais tarde em Moravcsik (1998).
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 22, n. 30, p. 13-26, jan./jun. 2010
20 LECLERC, A.
outros especialistas da língua. Sabemos o suficiente para aplicar as palavras
corretamente na maioria das situações, sem mais. No entanto, para satisfazer
filósofos e cientistas, até o trabalho do lexicógrafo não ajuda muito, sim-
plesmente porque recapitula o uso comum que o português herdou do latim
“mens”, por sua vez extremamente diversificado. Mens significa: princípio
pensante, espírito, alma, inteligência, razão, pensamento, ideia, consciência,
intenção, caráter, sentimento e paixões. O português praticamente repete o
latim, destacando, como o inglês mind, a memória ou a lembrança (“ter em
mente”); “mentar” tem em parte este sentido e também o sentido de propósito,
inventar um plano, etc. As definições descritivas do latim e do português
recapitulam boa parte da lista que oferecemos como ponto de partida,
principalmente em termos de capacidades/habilidades, ou poderes, isto é,
disposições e representações. “Princípio pensante”, “inteligência” e “razão”
são disposições (ou poderes, ou capacidades). Os termos “poder”, “capa-
cidade” e “habilidade” são termos disposicionais. Capacidade é um poder
de caráter mais fundamental, que não precisa de treino ou aprendizagem;
habilidade é uma capacidade adquirida com experiência, treino, aprendi-
zagem. Inteligência é principalmente a capacidade de resolver problemas;
razão, a capacidade de raciocinar e escolher a melhor opção. O resto da
definição remete a “reificações” ou “substancializações” da mente (“alma”,
“espírito”), a uma disposição de segunda ordem (“caráter” = um conjunto
de disposições de primeira ordem, como ser bem humorado, perspicaz,
etc.) e a estados ou eventos de natureza representacional (“pensamento”,
“sentimento”, etc.).
Na lista que forneci inicialmente encontramos estados, eventos, atos
ou atividades que consideramos como pertencendo ao domínio do “mental”;
são elementos constituindo o que chamamos de “mente”. Filósofos sempre
procuraram uma propriedade comum a todos esses fenômenos. A questão da
unidade da consciência e dos fenômenos mentais preocupa os filósofos da
mente, pelo menos desde Descartes e, mais recentemente, Brentano; mas uma
coceira seria tão mental quanto à crença de que a aplicação de uma força causa
aceleração. Basta mencionar que na literatura recente a idéia de perspectiva
tem tido um papel importante: uma criatura provida de mentalidade percebe
e sente todo de certo ponto de vista. A unidade desta perspectiva em primeira
pessoa parece central para a problemática da identidade pessoal. Os elemen-
tos mencionados na lista inicial têm certas características notáveis. Todos os
nossos estados, atos ou eventos mentais são (ou podem se tornar) conscientes;
muitos (senão todos) têm a característica de serem acerca de algo, eles
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 22, n. 30, p. 13-26, jan./jun. 2010
Mente e “mente” 21
representam ou são intencionais; todos têm a característica de ser subjetivos,
de precisar de um portador.
Nossa sugestão
O núcleo de sentido que procuramos destacar como característica
mais central do conceito comum de mente é a capacidade/habilidade de
representar/indicar algo, para um sujeito consciente situado. Algumas expli-
cações se fazem necessárias aqui:
1) Bebês nascem com certas capacidades mentais que se desenvolvem
rapidamente, mas eles não têm ainda certas capacidades (concei-
tuais, por exemplo). Portanto, os bebês têm uma mente, mas é óbvio
que a mente de um bebê está longe de seu pleno potencial. Uma
habilidade é uma capacidade adquirida, e a aquisição sempre requer
tempo. Daí a alternância “capacidade/habilidade”;
2) “Para um sujeito consciente situado”, isto é, um sujeito de expe-
riências conscientes, que pode trazer à consciência experiências pas-
sadas, estados e eventos possuídos em momentos anteriores; mas
isso não quer dizer que essas experiências, estados e eventos perma-
neceram tais quais em algum lugar chamado “inconsciente”, como
um peixinho que vai da superfície nas profundezas e de volta. As
experiências conscientes sempre representam mudanças internas do
organismo e o mundo ao nosso redor a partir de certo ponto de vista,
numa certa perspectiva, numa situação específica;
3) Que um ato, evento ou estado mental “representa” significa que ele
possui um conteúdo intencional que pode ser conceitual ou não.
Quando o conteúdo é conceitual (ou proposicional), ele pode ser
analisado em termos de representação de suas condições de satisfa-
ção. Mas nem toda representação funciona dessa maneira. Dizemos
que os anéis no tronco de uma árvore indicam sua idade, que a
altura da coluna de mercúrio indica a temperatura, que as pisadas
na areia indicam a presença de outra pessoa na ilha, que as manchas
vermelhas na pele indicam que a pessoa está com sarampo, etc.
Aqui, indicar é informar e também representar, mas a representa-
ção é baseada neste caso numa covariação causal, não na satis-
fação de condições. Esta forma de representação é adequada para
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 22, n. 30, p. 13-26, jan./jun. 2010
22 LECLERC, A.
as experiências perceptivas, as sensações corporais, a dor, e outros
estados ou eventos mentais que não parecem possuir a característica
de “ser acerca de algo”. A tese de Brentano de que a intencionali-
dade é a marca do mental, que nossos estados mentais podem ter
um conteúdo que representa objetos que não existem, não parece
aplicar-se, por exemplo, às sensações corporais. Uma dor é acerca
de quê? Pode representar algo que não existe? Deveríamos consi-
derar que as sensações não são mentais? Não! A tese de Brentano
pode ser restabelecida para as sensações e, de modo geral, para a
“mente fenomenal”, simplesmente admitindo que a covariação causal
é uma forma de intencionalidade “natural” ou mais primitiva que
indica ou informa sobre mudanças (normalmente rápidas e bruscas)
internas do organismo; ela é “acerca dessas” mudanças e não sobre
objetos externos (DRETSKE, 1995; TYE, 1996; CRANE, 2001). A
covariação causal não é satisfatória quando se trata de atitudes pro-
posicionais, mas as atitudes pressupõem habilidades (conceituais,
linguísticas) que os bebês e os animais não possuem. A partir de
3 ou 4 anos, as crianças já têm o conceito de crença falsa e, por-
tanto, têm atitudes com conteúdo conceitual, mas elas não deixam
(felizmente!) de se guiar no mundo pelas experiências sensoriais
baseadas na covariação causal. Assim, considerando as duas formas
de intencionalidade, esta é mesmo a marca do mental, como pensava
Brentano, e a mente, como diz Dretske, pode ser vista como “a face
representacional do cérebro”.
A mente está na cabeça?
A mente é algo único quando considerada em relação ao espaço. Na
percepção, a mente parece se estender até as estrelas, como dizia Merleau-
Ponty; em nossa imaginação, cabem aglomerados de galáxias e muito mais.
Qualquer realista está disposto a aceitar que há relações espaciais objetivas e
independentes da mente; mas outras são criadas pela mente, como na ilusão
de perspectiva, e todas aquelas que não são demasiado complexas podem ser
representadas. Mas não se pode perguntar sem causar perplexidade: “onde”
está a mente? Ela não tem um lugar como as coisas costumam ter, pois não
é mais uma coisa entre as coisas. A mente não é um objeto, uma coisa, uma
substância. Ela é uma organização de poderes de representar de um sujeito
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 22, n. 30, p. 13-26, jan./jun. 2010
Mente e “mente” 23
consciente e situado. Poderes (ou capacidades, habilidades, disposições) não
são “coisas”, mas pressupõem uma realização física. As representações repre-
sentam porque possuem propriedades semânticas, e essas são relacionais e
não intrínsecas.5
Se a mente não é um objeto, ela não tem um caráter de individua-
lidade. Sua identidade não pode ser determinada pela indiscernabilidade dos
idênticos. Descartes achava que a mente era distinta de qualquer coisa extensa.
Com isso, concordamos. Achava também que era uma coisa pensante, uma
substância. Quanto a isso, discordamos.
Como já expliquei em Leclerc (2010 apud SILVA FILHO, 2010,
p. 305-306):
Qualquer token de uma expressão linguística tem propriedades intrínsecas:
ondas sonoras obedecendo a certos padrões, ou marcas de tinta, giz, etc.,
sobre certa superfície, têm propriedades que um físico ou químico pode
identificar e descrever. Mas nenhuma delas determina o sentido da expres-
são ou as condições de aplicação de um termo. As propriedades semân-
ticas como ter um sentido, uma referência, uma força ilocucionária, um
conteúdo verocondicional, etc., são propriedades relacionais, da mesma
família que ser acerca de algo ou representar algo.6 A questão mais fun-
damental da semântica filosófica é precisamente a questão de saber como
passamos “do físico para o semântico”? Um problema paralelo em filosofia
da mente, conhecido como o Problema de Brentano, pode ser formulado
da seguinte maneira: como um sistema físico, um organismo, por exemplo,
pode produzir e manter estados que são acerca de algo distinto de si
mesmo? Será que as propriedades intrínsecas ou internas de um organismo,
5
Ver meu texto «Do Externismo ao Contextualismo», em SILVA FILHO, W. (Org.). Mente,
mundo, linguagem. São Paulo: Alameda, 2010.
6
Sobre isso, ver STALNAKER, R. On What’s in the Head, philosophical perspective, 3:
Philosophy of Mind and Action Theory. Atascadero: Ridgevew Publishing Company, 1989;
também em STALNAKER, R. Context and content: essays on intentionality in speech and
thought. Oxford: Oxford University Press, 1999. p. 169-193; particularmente p. 169-170:
“In retrospect, it seems that we should not have been surprised by the conclusions of Putnam
and Burge. Isn’t it obvious that semantic properties, and intentional properties generally,
are relational properties: properties defined in terms of relations between a speaker or agent
and what he or she talks or thinks about. And isn’t it obvious that relations depend, in all but
degenerated cases, on more than the intrinsic properties of one of the things related. This,
it seems, is not just a consequence of some new and controversial theory of reference, but
should follow from any account of representation that holds that we can talk and think, not
just about our own inner states, but also about things and properties outside of ourselves.”
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 22, n. 30, p. 13-26, jan./jun. 2010
24 LECLERC, A.
por exemplo, a atividade eletroquímica do cérebro, pode “produzir” algo
como a intencionalidade, a propriedade relacional de “ser acerca de algo”,
uma propriedade que, obviamente, não sobrevém localmente? Como
nossos estados mentais adquirem tal característica? As respostas tradicionais
a essas questões são classificadas, por Putnam, como “Teorias Mágicas da
Referência”.7 A ideia de uma intencionalidade “intrínseca” ou originária
parece uma sobrevivência dessas teorias mágicas.
O que vale para imagens públicas e expressões linguísticas vale para
conteúdos mentais, conceituais ou não: as propriedades semânticas desses con-
teúdos não são obtidas misteriosamente, elas resultam do uso feito desses
conteúdos por agentes cognitivos. O conteúdo das atitudes (crenças, desejos,
etc.) é especificado por uma frase de uma língua pública no escopo de um
verbo de atitude. O conteúdo mental herda normalmente as propriedades
semânticas dessa frase (ou de uma transformação gramatical dela). Além do
mais, nossas atitudes têm condições de satisfação; em particular, nossas
crenças têm condições de verdade: o que deve ser o caso no mundo se a crença
for verdadeira.
Descartes estava convencido de que a mente não possui nenhuma
característica de uma substância extensa, em particular a localização espacial.
Portanto, seria tão absurdo, para Descartes, afirmar que a mente está na cabeça
quanto afirmar que o número dois está na gaveta. O que está na cabeça, lite-
ralmente, são neurônios de vários tipos, interconectados e organizados numa
arquitetura complexa, disparando sob certas condições, e neurotransmissores,
permitindo uma atividade eletroquímica constante num meio “úmido”. Não
adiante olhar dentro do crânio; ninguém jamais viu uma crença, uma intenção,
um desejo, uma percepção, uma lembrança, uma dor, um orgasmo, ou qual-
quer coisa parecida.
Afirmar que a mente não está na cabeça também é de natureza a
deixar todo mundo perplexo. A doutrina cartesiana da união substancial tinha
como objetivo oferecer um contrapeso. Cento e cinquenta anos de avanços
espetaculares das neurociências não significam nada? Com certeza, temos
7
Ver PUTNAM, H. Reason, truth and history. Cambridge: C.U.P., 1981, p. 3: “[…] once
one realizes that a name only has a contextual, contingent, conventional connection with its
bearer, it is hard to see why knowledge of the name should have any mystical significance.”
“[…] mental representations no more have a necessary connection with what they represent
than physical representations do. The contrary supposition is a survival of magical thinking.”
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 22, n. 30, p. 13-26, jan./jun. 2010
Mente e “mente” 25
ainda muito a aprender sobre o cérebro, mais seria absurdo negar que nosso
conhecimento não cresceu substancialmente nas últimas décadas. O vitalismo
não é mais considerado seriamente em filosofia da biologia simplesmente
porque nosso conhecimento das bases físicas da vida cresceu muito desde a
descoberta da estrutura do ADN (ácido desoxirribonucleico). Consideramos
que se trata de uma questão de tempo até poder identificar as propriedades dos
seres vivos com propriedades de nível inferior na ordem da complexidade. Por
que não adotar a mesma atitude em relação à mente, como fazem os fisica-
listas reducionistas? De outro modo, não estaríamos reintroduzindo em nossa
ontologia algo condenável para qualquer naturalista, algo irredutível que não
pode ser descrito de novo usando só os termos encontrados nas teorias das
ciências da natureza?
Na minha frente, vejo uma fotografia em preto e branco de minhas
crianças e de nossa cachorra. Reconheço facilmente todas elas sem dificul-
dade; posso afirmar com segurança que elas estão “na” fotografia, mas não
“realmente”. O que há realmente, na imagem, são pontos brancos e pretos
distribuídos sobre uma superfície lisa. Os eventos narrados num livro de
história não estão realmente no livro. No livro (o exemplar que tenho na
minha biblioteca) há marcas de tinta sobre folhas de papel. Os eventos narra-
dos não podem estar lá. E quando lembro o Parthenon que vi em 1980, ele
também, obviamente, não está (realmente) na minha cabeça. Da mesma
maneira, as imagens não estão “no” espelho, como se elas fossem presas lá
dentro. Dizer que “a mente é a face representacional do cérebro” é estabelecer,
por analogia, o mesmo tipo de relação.
Referências
ARMSTRONG, D. M. The mind-body problem: an opinionated introduction.
Boulder: Westview Press, 1999.
CHURCHLAND, P. Matter and consciousness. Cambridge, MA: MIT Press, 1988.
CRANE, T. Elements of mind. Oxford: Oxford, 2001.
DAVIDSON, D. Donald Davidson. In: GUTTENPLAN, S. (Org.). A companion to
the philosophy of mind. Oxford: Blackwell, 1994. p. 231-236.
DESCARTES, R. Méditations metaphysiques. Paris: Presses Universitaires de
France, 1970.
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 22, n. 30, p. 13-26, jan./jun. 2010
26 LECLERC, A.
DRETSKE, F. Naturalizing the mind. Cambridge, MA: MIT Press, 1995.
FLANAGAN, O. Consciousness reconsidered. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.
LECLERC, A. Do externismo ao contextualismo. In: SILVA FILHO, W. da. (Org.).
Mente, mundo, linguagem. São Paulo: Alameda, 2010.
MORAVCSIK, J. Meaning, creativity and the partial inscrutability of the human
mind. Stanford: CSLI Publications, 1998.
PUTNAM, H. The meaning of ‘meaning’. In: GUNDERSON, K. (Org.). Language,
mind and knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1975. p. 131-193.
. Reason, truth and history. Cambridge: C.U.P., 1981.
PESSIN, A.; GOLDBERG, S. (Org.). The twin-earth chronicles. Armonk: M. E.
Sharpe, 1996. p. 3-52.
SEARLE, J. Intentionality. Cambridge, MA: Cambridge University Press, 1983.
. The rediscovery of mind. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.
STALNAKER, R. On what’s in the head, philosophical perspective, 3: philosophy
of mind and action theory. Atascadero: Ridgevew Publishing Company, 1989.
. Context and content: essays on intentionality in speech and thought. Oxford:
Oxford University Press, 1999.
TYE, M. Ten problems of consciousness. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.
Recebido: 23/04/2010
Received: 04/23/2010
Aprovado: 12/05/2010
Approved: 05/12/2010
Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 22, n. 30, p. 13-26, jan./jun. 2010
Você também pode gostar
- Objetivismo: Introdução à epistemologia e teoria dos conceitosNo EverandObjetivismo: Introdução à epistemologia e teoria dos conceitosAinda não há avaliações
- M - VALE, G. - Dennett, Uma Perspectiva Evolutiva Da MenteDocumento12 páginasM - VALE, G. - Dennett, Uma Perspectiva Evolutiva Da MenteRodrigo CésarAinda não há avaliações
- Energia Da Palavra - Filipe LopesDocumento20 páginasEnergia Da Palavra - Filipe Lopesefe LopesAinda não há avaliações
- A Mente Mestre (Traduzido): A chave para o poder mental, desenvolvimento e eficiênciaNo EverandA Mente Mestre (Traduzido): A chave para o poder mental, desenvolvimento e eficiênciaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- A Alma Humana: Uma viagem ao interior do psiquismo e a suas raízesNo EverandA Alma Humana: Uma viagem ao interior do psiquismo e a suas raízesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Introducao Filosofia Da MenteDocumento16 páginasIntroducao Filosofia Da MenteEli VagnerAinda não há avaliações
- Consciencia Aulas 1 e 2Documento54 páginasConsciencia Aulas 1 e 2Claiton Dos Santos100% (1)
- 1 Folha de Aula FILOSOFIA DA MENTE 15 Fev 2023Documento10 páginas1 Folha de Aula FILOSOFIA DA MENTE 15 Fev 2023maria.mormano209Ainda não há avaliações
- GOLOMBEK1998Documento3 páginasGOLOMBEK1998Laura lapa da silvaAinda não há avaliações
- A arte de ler mentes: Como interpretar gestos e influenciar pessoas sem que elas percebamNo EverandA arte de ler mentes: Como interpretar gestos e influenciar pessoas sem que elas percebamNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (8)
- Mente Corpo - DescartesDocumento5 páginasMente Corpo - Descartesnelson_santos3779Ainda não há avaliações
- A Intuicao Na InterdisciplinaridadeDocumento20 páginasA Intuicao Na InterdisciplinaridadeGiseleAinda não há avaliações
- Mente CristãDocumento15 páginasMente CristãManassésMoreiraIIAinda não há avaliações
- Mente de AcoDocumento31 páginasMente de AcoLucas AlvesAinda não há avaliações
- A Voz Da ConsciênciaDocumento4 páginasA Voz Da Consciênciasmcst9Ainda não há avaliações
- IntencionalidadeDocumento3 páginasIntencionalidadeJuliana JunqueiraAinda não há avaliações
- II - Principais Teorias Do Século XX - REMOTO - 2022 - Assoc J Estrut J Func J GestaltDocumento27 páginasII - Principais Teorias Do Século XX - REMOTO - 2022 - Assoc J Estrut J Func J GestaltYoung AdrianAinda não há avaliações
- Instrumento Do SaberDocumento13 páginasInstrumento Do SaberEduardo Galvão JuniorAinda não há avaliações
- P. GeralDocumento12 páginasP. GeralLeoMarianoCeiaAinda não há avaliações
- A Mente Corporea - Seminario 1 0Documento22 páginasA Mente Corporea - Seminario 1 0edney cavalcanteAinda não há avaliações
- 2 Folha de Aula FILOSOFIA DA MENTE 22 de Fevereiro 2023Documento9 páginas2 Folha de Aula FILOSOFIA DA MENTE 22 de Fevereiro 2023maria.mormano209Ainda não há avaliações
- Bion: Transferência, transformações, encontro estéticoNo EverandBion: Transferência, transformações, encontro estéticoAinda não há avaliações
- Aula 1 - Psicologia CognitivaDocumento24 páginasAula 1 - Psicologia Cognitivaisis.martinsAinda não há avaliações
- Afinal, o que é experiência emocional em psicanáliseNo EverandAfinal, o que é experiência emocional em psicanáliseAinda não há avaliações
- Lógica e Interpretação de DadosDocumento59 páginasLógica e Interpretação de DadosSamaraSantiago100% (1)
- Neuropsicopedagogia Da Cognição HumanaDocumento132 páginasNeuropsicopedagogia Da Cognição HumanaVitória NascimentoAinda não há avaliações
- Epistemologia Da Psicanálise Elementos para o Debate: Enciclopédia BritânicaDocumento9 páginasEpistemologia Da Psicanálise Elementos para o Debate: Enciclopédia BritânicaPe AmeixaAinda não há avaliações
- Um novo olhar sobre os pensamentos: dialéticos, antidialéticos e essenciaisNo EverandUm novo olhar sobre os pensamentos: dialéticos, antidialéticos e essenciaisAinda não há avaliações
- PSICOLOGIA GERAL-A Consciência... Estados Da ConsciênciaDocumento5 páginasPSICOLOGIA GERAL-A Consciência... Estados Da ConsciênciaAndré Domingos PumulaAinda não há avaliações
- Consciência: Descobrindo as etapas da mente: do consciente ao inconsciente, da influência dos ritmos biológicos ao sono e aos sonhosNo EverandConsciência: Descobrindo as etapas da mente: do consciente ao inconsciente, da influência dos ritmos biológicos ao sono e aos sonhosAinda não há avaliações
- Livro Do Cérebro À Neuropsicologia Das Estruturas Mentais. Como o Cérebro Cria Nosso Mundo MentalDocumento50 páginasLivro Do Cérebro À Neuropsicologia Das Estruturas Mentais. Como o Cérebro Cria Nosso Mundo MentalricardosmricoAinda não há avaliações
- CENSA - CORPO E MENTE Cap 5 8 AnoDocumento32 páginasCENSA - CORPO E MENTE Cap 5 8 AnodeliveryworkAinda não há avaliações
- O-PensamentoDocumento21 páginasO-PensamentoMavi PsiAinda não há avaliações
- A Essncia Da Mente Apostila01Documento7 páginasA Essncia Da Mente Apostila01Ícaro Barbosa Silva SilvaAinda não há avaliações
- Movimentos Da Psicologia No Século XX Estudo Da Pissicomatica Tema 2 Modulo 1,2,3Documento48 páginasMovimentos Da Psicologia No Século XX Estudo Da Pissicomatica Tema 2 Modulo 1,2,3immarii ferreiraAinda não há avaliações
- PsicologiaDocumento15 páginasPsicologiaMunir Massarote Jr.100% (1)
- Thomas Odgen ReverieDocumento3 páginasThomas Odgen ReverieRenata TirollaAinda não há avaliações
- Por Uma Igreja SinodalDocumento29 páginasPor Uma Igreja SinodalManoel AlvesAinda não há avaliações
- DISSERTAO. RITA Matiusso Verso FinalDocumento89 páginasDISSERTAO. RITA Matiusso Verso FinalManoel AlvesAinda não há avaliações
- O Que É Filosofia Da Mente (João de Fernandes Teixeira) (Z-Library)Documento29 páginasO Que É Filosofia Da Mente (João de Fernandes Teixeira) (Z-Library)Manoel AlvesAinda não há avaliações
- O Pluralismo Interacionista de Karl Popper Como Uma Teoria Alternativa Par A Mente HumanaDocumento16 páginasO Pluralismo Interacionista de Karl Popper Como Uma Teoria Alternativa Par A Mente HumanaManoel AlvesAinda não há avaliações
- Homilia Dia 06Documento2 páginasHomilia Dia 06Manoel AlvesAinda não há avaliações
- As Cinco Gerações Tecnologicas Na Educação A DistânciaDocumento3 páginasAs Cinco Gerações Tecnologicas Na Educação A DistânciaManoel AlvesAinda não há avaliações
- Apostila 11 - ConfiançaDocumento10 páginasApostila 11 - ConfiançaMarina Cordeiro LinsAinda não há avaliações
- Documento Sem NomeDocumento19 páginasDocumento Sem NomeLucas MarianoAinda não há avaliações
- LIVRO - Como Multiplicar Seu Dinheiro Até Transbordar - Com Princípios BíblicosDocumento116 páginasLIVRO - Como Multiplicar Seu Dinheiro Até Transbordar - Com Princípios BíblicosViviane Gomes100% (6)
- Opinião Não É ArgumentoDocumento2 páginasOpinião Não É ArgumentoAglaia Ruffino JallesAinda não há avaliações
- Pensamentos Automáticos - TCCDocumento4 páginasPensamentos Automáticos - TCCLília BoellAinda não há avaliações
- Cura A Tua Vida Conquista Os Teus SonhosDocumento18 páginasCura A Tua Vida Conquista Os Teus Sonhosanabela martinsAinda não há avaliações
- Livro Cansei de Ser PobreDocumento263 páginasLivro Cansei de Ser Pobrecaiomurillo100% (1)
- Entrevista Sam Parnia Out-22Documento95 páginasEntrevista Sam Parnia Out-22pauloAinda não há avaliações
- Manual Ho OponoponoDocumento17 páginasManual Ho OponoponoEdnalva Resende100% (3)
- Go Portugues Ita 5ea1e4615fabeDocumento13 páginasGo Portugues Ita 5ea1e4615fabeThiago de Paula e SilvaAinda não há avaliações
- Nova Era e Pseudo EspiritualismoDocumento8 páginasNova Era e Pseudo EspiritualismoNilton BonassaAinda não há avaliações
- A Influência Da Religiosidade e Espiritualidade No Enfrentamento Da Doença 2Documento22 páginasA Influência Da Religiosidade e Espiritualidade No Enfrentamento Da Doença 2Ana Marilda AndradeAinda não há avaliações
- WORKSHOP OS SEGREDOS DA GRATIDÃO Apostila 04Documento40 páginasWORKSHOP OS SEGREDOS DA GRATIDÃO Apostila 04Monica GuimaraesAinda não há avaliações
- Psicologia Hegemônica Uma Reflexão Sobre Suas Bases IdealistasDocumento7 páginasPsicologia Hegemônica Uma Reflexão Sobre Suas Bases IdealistasLucas PassosAinda não há avaliações
- Breve História Do MétodoDocumento57 páginasBreve História Do MétodovitorAinda não há avaliações
- 0.1 Atração Não É Uma Escolha - DeAngeloDocumento175 páginas0.1 Atração Não É Uma Escolha - DeAngeloEduardo Jorge Pinto Martins83% (12)
- Em Direcao A Uma Cosmovisao Cri - W. Gary CramptonDocumento71 páginasEm Direcao A Uma Cosmovisao Cri - W. Gary CramptonicaroAinda não há avaliações
- Filadelfia Por Nogueira PDFDocumento311 páginasFiladelfia Por Nogueira PDFKaritaAzevedoAinda não há avaliações
- Barras de Access: Noções Básicas SobreDocumento13 páginasBarras de Access: Noções Básicas Sobreednarochaa34Ainda não há avaliações
- Fodor - A Persistência Das AtitudesDocumento34 páginasFodor - A Persistência Das AtitudesRhael PereiraAinda não há avaliações
- A Ce5 Handbook PT-BRDocumento135 páginasA Ce5 Handbook PT-BRAlcibiades MachadoAinda não há avaliações
- CheckIn Setembro 2021Documento11 páginasCheckIn Setembro 2021San CostaAinda não há avaliações
- DOSSE, François. O Acontecimento Na Era Das Mídias. in Renascimento Do Acontecimento Um Desafio para o Historiador Entre Esfinge e Fênix.Documento57 páginasDOSSE, François. O Acontecimento Na Era Das Mídias. in Renascimento Do Acontecimento Um Desafio para o Historiador Entre Esfinge e Fênix.Vanessa MarquesAinda não há avaliações
- Tabela HertzDocumento2 páginasTabela Hertzrobertaalvez08Ainda não há avaliações
- BNCC Ensino Religioso 1º Ao 5º Ano - 2023 Mozart PintoDocumento6 páginasBNCC Ensino Religioso 1º Ao 5º Ano - 2023 Mozart PintoMozart Pinto Escola MunicipalAinda não há avaliações
- MainDocumento12 páginasMainSamuel ViniciusAinda não há avaliações
- UntitledDocumento11 páginasUntitledMario Rhyico de AlmeidaAinda não há avaliações
- Ética e Moral - Uma Distinção IndistintaDocumento3 páginasÉtica e Moral - Uma Distinção IndistintaJean Borba Dos ReisAinda não há avaliações
- O Livro de Exercícios Pense e EnriqueçaDocumento18 páginasO Livro de Exercícios Pense e EnriqueçaTotal Body Depilação a LaserAinda não há avaliações
- Recurso Das Crenças-1Documento21 páginasRecurso Das Crenças-1Rayra Brielly100% (1)