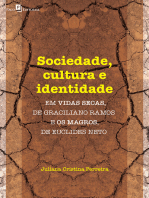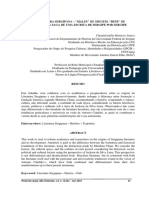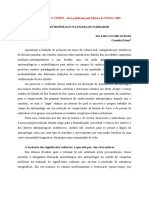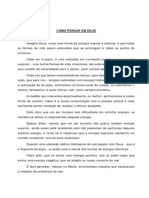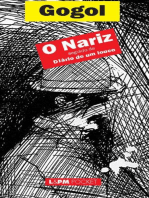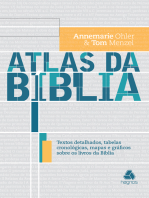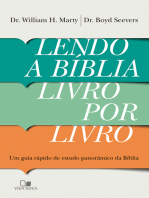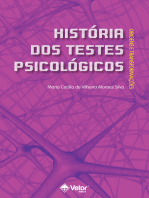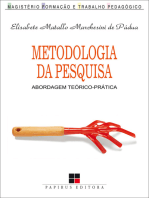Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Amazônia em Perspectivas Cultura Poesia Arte
Enviado por
senhordocasteloDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Amazônia em Perspectivas Cultura Poesia Arte
Enviado por
senhordocasteloDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Conselho Editorial
Série Letra Capital Acadêmica
Beatriz Anselmo Olinto (Unicentro-PR)
Carlos Roberto dos Anjos Candeiro (UFTM)
Claudio Cezar Henriques (UERJ)
João Medeiros Filho (UCL)
Leonardo Santana da Silva (UFRJ)
Luciana Marino do Nascimento (UFRJ)
Maria Luiza Bustamante Pereira de Sá (UERJ)
Michela Rosa di Candia (UFRJ)
Olavo Luppi Silva (UFABC)
Orlando Alves dos Santos Junior (UFRJ)
Pierre Alves Costa (Unicentro-PR)
Rafael Soares Gonçalves (PUC-RIO)
Robert Segal (UFRJ)
Roberto Acízelo Quelhas de Souza (UERJ)
Sandro Ornellas (UFBA)
Sergio Azevedo (UENF)
Sérgio Tadeu Gonçalves Muniz (UTFPR)
Fadul Moura
Yasmin Serafim
Rita Barbosa de Oliveira
Organizadores
A ma zôni a em P erspecti vas :
C ultur a , P oesi a , A rte
Copyright © Fadul Moura, Yasmin Serafim, Rita Barbosa de Oliveira (orgs.), 2017
Todos os direitos reservados e protegidos pela Lei nº 9.610, de 19/02/1998.
Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida ou transmitida, sejam quais forem os
meios empregados, sem a autorização prévia e expressa do autor.
Editor João Baptista Pinto
Capa Rodrigo Verçosa
Projeto Gráfico e Editoração Luiz Guimarães
Revisão Fadul Moura, Yasmin Serafim e
Adriano Pinto
CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ
A526
Amazônia em perspectivas: cultura, poesia, arte/organização Fadul Moura , Yasmin Serafim,
Rita Barbosa de Oliveira. -- 1. ed. -- Rio de Janeiro : Letra Capital, 2017.
216 p. : il.; 15,5x23 cm.
Inclui bibliografia
ISBN: 978-85-7785-531-5
1. Ciências sociais. I. Moura, Fadul. II. Serafim, Yasmin. III. Oliveira, Rita Barbosa de.
17-41348 CDD: 320
CDU: 32
Letra Capital Editora
Telefax: (21) 3553-2236/2215-3781
letracapital@letracapital.com.br
Sumário
Apresentação........................................................................................ 7
Reedição, repetição e diferença em Frauta de barro........................ 14
Allison Leão
Astrid Cabral: metáforas do eu-poético poeta................................ 32
Carlos Antônio Magalhães Guedelha
A cartografia do tempo: forma colecionadora e traços
do canto em Frauta de barro, de Luiz Bacellar.................................. 50
Fadul Moura
Poesia das imagens: ilustração e artes gráficas na edição
de 1963 de Frauta de barro, de Luiz Bacellar.................................... 81
Luciane Viana Barros Páscoa
Ópera no Norte do Brasil no fim do século XIX............................ 97
Márcio Leonel Farias Reis Páscoa
Muraida: um poema épico amazônico........................................... 107
Marcos Frederico Krüger Aleixo
Verbo, gesta e gênese, em Quarto de hora....................................... 119
Nicia Petreceli Zucolo
Academia do Peixe Frito e as alvoradas do século XX,
diálogos e intersecções modernistas: literatura e
jornalismo na Amazônia................................................................. 137
Paulo Nunes
Vânia Torres Costa
Dramaturgia e contística no Amazonas: Nereide Santiago,
Zemaria Pinto, Vera do Val e Allison Leão.................................... 167
Rita Barbosa de Oliveira
Sobre ordenar o caos: o labirinto de Alberto Rangel
em Inferno verde................................................................................ 194
Yasmin Serafim
Sobre os Autores.............................................................................. 213
Apresentação
Das perspectivas: revisitações
sobre certas Amazônias
E m tempos em que a palavra “cultura” é tomada equivocadamen-
te como sinônimo de “inovação” e “progresso”, a fim de ser
arregimentada como uma ação institucionalizada, vale repensar e
rediscutir lugares destinados às produções literárias e artísticas no
cenário acadêmico de universidades do Norte do país. Para tanto,
o Grupo de Estudos e Pesquisas em Literaturas de Língua Portuguesa
(GEPELIP), em parceria com o grupo de pesquisa Investigações sobre
memória cultural em artes e literatura (MemoCult), reuniu estudos de
professores da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Univer-
sidade do Estado do Amazonas (UEA) e da Universidade da Amazô-
nia (UNAMA), além de alguns convidados.
O fato de a Literatura e as Artes não sincronizarem seus pas-
sos a uma marcha tecnológica não significa que essas áreas sejam
retardatárias, mas, sim, que possuem uma natureza distinta, com
demarcação temporal e questões que extrapolam o envoltório admi-
nistrativo, para realizarem manifestações orgânicas, vivas. Ao volta-
rem-se para o efeito estético, a maneira com que o homem entra em
contato com a Literatura e com as Artes não pode ser a mesma com
que consome um produto de mercado industrial. Valor, quantidade
e indicadores gráficos não são capazes de traduzir o efeito estético
despertado pela obra de arte, devido ao seu caráter predominante-
mente subjetivo.
Para Heidrun Krieger Olinto1, a literatura está voltada para
um espaço afetivo. Por seu turno, esse campo é compartilhado e
transcende o individualismo para tocar uma coletividade. Segundo
propõe: “[...] [a] marca invisível dessa atmosfera envolvente, rever-
berando em posturas corporais, mímicas gestuais, hábitos de lin-
guagem e entonações, prenuncia o pertencimento a determinado
espaço a partir da partilha de emoções comuns, fonte de estímulo
para ações humanas. [...] (2014, p. 131). Tais elementos comparti-
lhados alinhavam valores e formas de expressão que caracterizam as
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 7
comunidades. Como expressão, os afetos modulam-se e traduzem
valores morais, estéticos e éticos. Sua representação estética espelha
o grupo por meio da forma ficcional e poética, tal como acontece
com as dimensões visuais e musicais de caráter artístico, as quais se
transformam em expressões de uma cultura viva.
Por outra perspectiva teórica, Rita Terezinha Schmidt2 compre-
ende que as Humanidades estão perdendo terreno nos jogos confli-
tuosos do mundo globalizado. No caso particular dos Estudos Literá-
rios, esses se encontram abarcados por grupos mais amplos, disfarça-
dos por áreas temáticas, códigos e linguagens generalizantes. Nesse
âmbito, a Literatura Comparada é a área que procura um lugar para
mais específico o literário, diferente daquele definido pela cataloga-
ção historiográfica. Com seu caráter transdisciplinar, ela estabelece
diálogos-pontes com outras ciências (por exemplo, os Estudos Cultu-
rais e os estudos dos arquivos), sem colocar em segundo plano a na-
tureza do texto literário. Pautada nas leituras de Martha Nussbaum
e Gayatri Spivak, Schmidt atesta que “[...] os efeitos homogeinizado-
res da globalização não podem neutralizar ou destruir o dispositivo
perceptivo-sensorial com que experienciamos a condição de ser, e o
discurso literário é o lugar, por excelência, em que as particularida-
des dessa condição, que é histórica e culturalmente contingente, são
imaginadas, recebidas e reimaginadas, permitindo o diálogo entre
perspectivas diferentes. [...] (2013, p. 302). Nesse sentido, as palavras
da pesquisadora corroboram a assertiva de Olinto no que tange à
habilidade do dizer lítero-artístico como expressão cultural da dife-
rença. Ele é capaz de manifestar as contingências do mundo globa-
lizado e colocá-las em evidência para serem não só experimentadas,
mas criticamente analisadas pelo homem contemporâneo. Eis um
primeiro caminho, ético e metodológico, a ser assumido.
Por um segundo viés, debruçado sobre o estético, os estudos de
Georges Didi-Huberman3 sobre imagem apontam que não deve ha-
ver larga distância – guardadas as proporções de suas naturezas for-
mais – entre palavras e imagens. Para ele, as imagens e as palavras
são meio pelo qual o homem inventa e registra seus desejos. Assim
“[...] é absurdo, a partir de um ponto de vista antropológico, opor as
imagens e as palavras, os livros de imagens e os livros a seco. Todos
juntos formam, para cada um, um tesouro ou uma tumba da memó-
ria, seja esse tesouro um simples floco de neve ou essa memória es-
teja traçada sobre a areia antes que uma onda a dissolva. [...]” (2012,
8 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
p. 210). A imagem dos “livros a seco” traduz a impossibilidade de
separação definitiva entre o discurso literário e o discurso visual.
Ampliando a noção óptica para a carga semântica de “visibilidade”4,
torna-se possível compreender que tanto o texto literário quanto o
texto de outras manifestações artísticas são capazes de traduzir tra-
ços da cultura. Por mais que não haja figuras nos “livros a seco”,
isso não quer dizer que não sejam produtores de imagens, inclusive
poéticas. Aqui não cabe discutir qual dos dois nasceu primeiro, mas
notar que a correlação Literatura-Artes sempre existiu para o ho-
mem, portanto, apresentá-lo como ser de palavras espelha a ideia de
apresentá-lo como ser de imagens.
Arrematando as duas linhas anteriormente aduzidas, a produ-
ção da imagem cultural deve ser entendida como uma construção
coletiva, a qual vaza pelas obras de arte que tanto a expõem quanto
refletem sobre ela. Entendendo que a construção da imagem é pro-
cedente de uma tomada de consciência, como propõe Daniel-Henri
Pageaux (2004)5, depreende-se que a memória reenvia valores sen-
síveis para o momento da enunciação representado pela narrativa,
pela pintura, pela poesia, etc., conferindo às vozes textuais um efeito
estético sobre o qual o homem deve refletir e, ainda, cujo caráter é
fundamental na construção dos significados contidos nas obras de
arte, posto que “[...] a imagem é representação, mistura de sentimen-
tos e de ideias de que é importante captar as ressonâncias afectivas
e ideológicas. [...]” (PAGEAUX, 2004, p. 137). Tais afetos, dessa for-
ma, devem ter sua compreensão ideológica iluminada.
Tomando como bússola o tema Amazônia em perspectivas: cultura,
poesia, arte, os estudos deste volume discutem obras de arte literá-
ria, visual e do espetáculo. Eles incitam a reconstruir proposições, a
formular pensamentos e a fugir aos sistemas de preceitos convencio-
nais, que compreendem as Literaturas e as Artes sobre a Amazônia
pela perspectiva do exótico.
Allison Leão, em Reedição, repetição e diferença em Frauta de barro,
faz um levantamento das alterações feitas por Luiz Bacellar desde
a primeira edição publicada do livro até a última (de 2011) e avalia
o impacto dessas transformações. Traçando um panorama da histó-
ria da obra por meio das edições conhecidas, evidencia variações
de versos, além de inserções, transposições e retiradas de poemas.
Essas atitudes são compreendidas como matérias que movem a es-
trutura do livro, cambiante desde o momento de sua escrita. Ao
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 9
fim, procura associar a dinâmica dessas movimentações à estrutura
musical plasmada à obra.
Carlos Antônio Magalhães Guedelha apresenta em Astrid Cabral:
metáforas do eu-poético poeta a relação entre metaforização e poesia,
analisando o comportamento do eu lírico ao voltar-se para a própria
linguagem. Em sua abordagem, perfaz um levantamento teórico
sobre metáfora, assim como o processo da metalinguagem, desta-
cando-a como mecanismo com o qual Astrid Cabral reflete sobre o
fazer poético. Dessa maneira, o pesquisador traça um caminho por
livros da poetiza brasileira, a evidenciar as marcas subjetivas desse
eu dorido, envolvido de por tensões entre sentimentos opostos.
A cartografia do tempo: forma colecionadora e traços do canto em Frau-
ta de barro, de Luiz Bacellar é uma análise da obra do poeta à luz das
ideias de cartografia e coleção. Enquanto a primeira observa as (des)
territorializações do mundo poético, intrincadas a jogos temporais
dentro do livro, a segunda ilumina a estrutura estruturante de Frau-
ta de barro como uma forma de arquivo fundada por processos de
seleção e reunião de elementos inicialmente díspares cotejados pelo
colecionador. Assim, Fadul Moura procura lançar luz ao tema do
livro: a memória, capaz de encerrar o paradoxo do passado no pre-
sente em forma de poesia que lança para o futuro.
Luciane Páscoa, em Poesia das imagens: ilustração e artes gráficas
na edição de 1963 de Frauta de barro, de Luiz Bacellar, propõe uma
análise acerca das imagens do primeiro livro do autor. Concebendo-
-o como um livro-objeto, a pesquisadora realiza uma apreciação es-
tética do projeto gráfico da obra, incluindo a capa e as ilustrações
que a integram. Além disso, destaca o aspecto modernista que lhe
é característico. Voltada para a presença de Moacir Andrade, Álva-
ro Páscoa, Óscar Ramos, Pietro Lazzari e André Masson, o estudo
demonstra como em Frauta de barro é construído um estreito laço
entre poesia e Artes Visuais.
Em Ópera no Norte do Brasil no fim do século XIX, Márcio Páscoa
traça o percurso de apresentações de ópera na região, listando espe-
táculos que movimentaram as cidades de Manaus e Belém durante
o século. Voltando-se para Belém, em que é exposta, dentre outros
espetáculos, Il Guarany, comenta a recepção da obra de Carlos Go-
mes, a além de conferir destaque especial para Gama Malcher com
Bug Jargal. Márcio Páscoa analisa essa última obra, enfatizando suas
partes dramáticas e apontando o diálogo que o autor estabelece
10 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
com a Europa, a evidenciar um cruzamento de traços estéticos pró-
prios ao contexto europeu no interior da vida das cidades do Norte.
Em Muraida: um poema épico amazônico, Marcos Frederico Krü-
ger Aleixo discute o livro que considera o marco inicial da literatura
produzida no Amazonas. O crítico apresenta as condições históricas
que engendraram o épico sobre os índios mura: a presença do por-
tuguês Alexandre Ferreira e a perspectiva colonizadora da Coroa
Portuguesa. Diante disso, volta o olhar para o texto português Hen-
rique João Wilkens, destacando a origem e os traços de sua compo-
sição. Ao fim, faz um balanço do épico e de sua recepção, dando
ênfase aos estudos de Márcio Souza e Mário Ypiranga Monteiro.
Nicia Petreceli Zucolo escreve em Verbo, gesta e gênese, em Quarto
de hora uma análise sobre o livro da paraense Maria Lúcia Fernandes
Medeiros. Pela perspectiva dos estudos de gênero, põe em evidencia
o papel da feiticeira em uma sociedade arcaica, apresentando, na
ideia de gesta, não só o elemento que subverte a gesta tradicional,
mas também que expõe o significado de gestar. No texto, a pesquisa-
dora utiliza-se da proposta do sagrado, à luz dos estudos de Mircea
Eliade, para configurar a formação de uma sociedade por meio da
narrativa, a qual é transmitida como lição de mãe para a filha.
Em Academia do Peixe Frito e as alvoradas do século XX, diálogos
e intersecções modernistas: literatura e jornalismo na Amazônia, Paulo
Nunes e Vânia Torres Costa debruçam-se sobre a obra de dois dos
treze integrantes da Academia paraense: Dalcídio Jurandir e Bruno
de Menezes. Tendo como parte do corpus de estudo Belém do Grão-
-Pará e Candunga, os críticos destacam a atuação literária e jornalísti-
ca daqueles que advêm das margens do capitalismo periférico, mas
que colaboram para instituir uma nova forma de fazer literatura e
jornalismo, associados à Negritude e à modernidade. Com um forte
levantamento de arquivos, ainda trazem documentos cedidos pelas
famílias dos escritores, para inferir sobre suas atuações políticas e
literárias.
Rita Barbosa de Oliveira traz em Dramaturgia e contística no Ama-
zonas: Nereide Santiago, Zemaria Pinto, Vera do Val e Allison Leão um
levantamento de dados até então desconhecidos devido à dispersão
das informações sobre os autores do Amazonas. No campo das artes
do espetáculo, destaca a intensa produção de Nereide Santiago; de
Zemaria Pinto, confere ênfase a Nós, Medeia, devido à sua sobreposi-
ção de planos. Na contística, concentra-se nos textos Allison Leão e
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 11
Vera do Val, em que pese o humor leve ou mordaz nas histórias am-
bientadas na cidade e a denúncia das condições sociais formadoras
dos grupos da Amazônia, respectivamente. Ao fim, a pesquisadora
traz alguns textos da fortuna crítica sobre os autores, lidos, mostran-
do que eles são território para novas pesquisas.
Sobre ordenar o caos: o labirinto de Alberto Rangel em Inferno verde
reflete sobre a perspectiva do autor do século XIX em relação ao
Amazonas, restringindo-o às dinâmicas dentro da floresta. Yasmin
Serafim aponta como a presença de dois vice-reinos portugueses,
em um momento da história, e o cientificismo do século XIX, em
outro, foram determinantes para a construção de um imaginário
amazônico, que foi encaminhado da representação paradisíaca à in-
fernal em certa literatura sobre a floresta. Em seguida, concentra-se
na análise de três contos do livro de Alberto Rangel, a evidenciar a
estrutura estruturante do livro como um labirinto vivo, espaço de
cenas de horror e solidão.
Sabendo, ainda, que as pesquisas em Artes e em Literatura a
respeito das figurações sobre Amazônia devem circular, mobiliza-
ram-se professores com autores diversificados, os quais não apenas
esboçam um caminho que está sendo traçado por pesquisas recen-
tes, como também são responsáveis por ampliar o espectro de co-
nhecimentos acadêmicos. As obras serão concebidas como ponto de
partida, para que se visualizem os deslocamentos do conhecimento,
estendendo-se para a cultura, para a poesia, para a arte. Destaca-se
que esse percurso já projeta suas bifurcações, correspondentes às
linhas críticas assumidas por cada pesquisador. Destarte, a heteroge-
neidade é uma marca necessária, a fim de que não sejam obnubila-
das as manifestações de culturas distintas (em poesia, em narrativa,
em ópera, etc.).
Ao fim, acredita-se que com essa característica interdisciplinar,
pode-se contribuir para a formação acadêmica de alunos de gradu-
ação e de pós-graduação, primando pela difusão do conhecimento
científico e artístico, tão caro a estudantes e professores.
Fadul Moura
Yasmin Serafim
Rita Barbosa de Oliveira
12 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Notas
1
OLINTO, Heidrun Krieger. Pequenos espaço-tempos afetivos. In: OLINTO,
Heidrun Krieger; Karl Erik Shøllhammer. (Org.). Literatura e espaços afetivos. Rio de
Janeiro: 7Letras, 2014.
2
SCHMIDT, Rita Terezinha. Pensando a literatura comparada enquanto campo de
singularidade e inovação. In: BITTENCOURT, Rita Lenira de Freitas; SCHMIDT,
Rita Terezinha. (Org.). Fazeres indisciplinados: estudos de literatura comparada.
Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2013.
3
DIDI-HUBERMAN, Georges. Quando as imagens tocam o real. Tradução de
Patrícia Carmello e Vera Casa Nova. Pós: Revista Eletrônica do Programa de Pós-
Graduação em Artes da Escola de Belas Artes-UFMG, Belo Horizonte, v. 2, n. 4, p. 204-
219, nov. 2012. Disponível em: <http://www.eba.ufmg.br/revistapos/index.php/
pos/article/view/60/62>. Acesso em: 18 out. 2014.
4
Cf. SCHØLLHAMMER, Karl Erik. Além do visível: o olhar da literatura. Rio de
Janeiro: 7Letras, 2007.
5
PAGEAUX, Daniel-Henri. Da imagem cultural ao imaginário. In: BRUNEL, Pierre
& CHEVREL, Yves (org.). Compêndio de Literatura Comparada. Trad. de Maria do
Rosário Monteiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 13
Reedição, repetição e diferença
em Frauta de barro
Allison Leão
E m que pese uma carreira de mais de cinco décadas, recente-
mente encerrada pelo seu falecimento, um dos maiores poetas
brasileiros do século XX ainda é uma fonte pouco explorada entre
os estudiosos do fenômeno lírico no Brasil. De fato, até hoje, a mag-
nitude da poesia de Luiz Bacellar é lamentavelmente obscurecida
pelo seu desconhecimento. Autor de poucos títulos, o longo cultivo
da poesia gestada em processo de criação e recriação atesta-o como
grande escultor das formas líricas, e sua poesia como ponto mais
elevado dessa arte no Amazonas. Reservado e avesso a qualquer
forma de divulgação de sua obra que não fosse o que a própria obra
tivesse a dizer, Bacellar pertence a uma estirpe de autores para os
quais o problema literário é resultante de uma relação muito ínti-
ma (e tensa) entre existência e linguagem, um conflito com apenas
breves tréguas. Dessa postura resulta a consciência e o exercício da
provisoriedade da obra, de sua transitoriedade no formato eventual
e circunstancial de uma edição. Antes da primeira, portanto, o pro-
blema já estava dado.
Nem todas as coisas começam em um início. Em 1963, Luiz Ba-
cellar lançava seu primeiro livro, Frauta de barro, e o que parece um
começo é, na verdade, mais um passo de uma jornada cuja constitui-
ção e seus efeitos, mesmo com a morte do escritor em 2012, ainda
não cessaram e talvez nunca cessem – a configuração inquieta de
uma obra que está nos livros que o autor escreveu tanto quanto está
além desses, ao mesmo tempo visível e invisível. Anotei “mais um
passo” porque, quando de seu lançamento, Frauta de barro já iniciara
sua trajetória pública quatro anos antes, na ocasião do Prêmio Ola-
vo Bilac de Poesia, à época um dos concursos mais prestigiosos do
Brasil, promovido pela prefeitura do Rio de Janeiro, então Capital
Federal. A comissão julgadora, composta por Carlos Drummond de
Andrade, Manuel Bandeira e José Paulo Moreira da Fonseca, con-
14 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
feriu o prêmio ao texto de Bacellar, observando neste o equilíbrio
entre o teor culto da criação e o lirismo comovente do conteúdo:
[...] o domínio sobre a palavra [...] não esclerosa a poesia de
Frauta de barro numa fria arquitetura; o autor, em geral, sabe
mesclar a ciência literária a uma efetiva capacidade de emocio-
nar. Seus poemas são humanos, no sentido em que a estesia
decorrente dos valores da construção, se conjuga a dados de
outra natureza, com a fixação de ocorrências vitais, que tão-só
ampliam o efeito do poema sobre o leitor. Estamos pois, nos
melhores momentos, diante de um equilíbrio de valores arqui-
tetônicos e valores dramáticos. (BANDEIRA; ANDRADE; FON-
SECA, 2011, p. 143)
Embora não possamos mais ter acesso ao texto inaugural de
Frauta de barro, aquele avaliado pela comissão do concurso, o que
ocorreu desde então, na trajetória da obra, possibilita-nos deduzir
que o texto a que se referem os membros do júri, em 1959, já não
seria o mesmo em 1963, assim como sabemos que não foi o mesmo
em 1977 (2ª ed.), 1989 (3ª ed.), 1992 (4ª ed.), 1998 (5ª. ed.), 2005
(6ª ed.), nem recentemente, em 2011 (9ª ed.), o último registro da
inquietude autoral de Bacellar. De fato, cada nova edição de Frauta
de barro significou o surgimento de uma nova obra, realizada na
tensão entre repetição e diferença. Se, acima, o leitor esteve atento,
percebeu o hiato na contagem. O hiato, a inexistência de uma 7ª e
uma 8ª edição, decorrente de um deslize editorial na passagem da
6ª para a “9ª” edição, é apenas mais uma peculiaridade da história
de uma obra cuja dinâmica será objeto deste ensaio.
Em um primeiro movimento, tentarei desenhar um panorama
da história da obra, do ponto de vista de sua expressão e sua forma,
a partir de uma amostra das modificações levadas a cabo ao longo
de cinco décadas, assim como darei notícia de aspectos de sua re-
cepção – o que aproveitarei em outro momento do ensaio. Neste
passo, tanto exporei os dados que levantei em estudo prévio, quanto
os abrigarei em uma classificação criada para organizá-los minima-
mente. A seguir, procurarei associar os elementos dessa dinâmica,
isto é, os dados obtidos, a algumas características da proposta lírica
de Frauta de barro, como sua estrutura musicalmente plasmada, o
conteúdo lírico-narrativo-popular e o procedimento colecionador
verificável em seu (hiper) texto, além das bases temporais sobre as
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 15
quais se constitui a obra. Por fim, enunciarei uma hipótese sobre o
caráter dinâmico do (nunca dado) estabelecimento de uma versão
definitiva desse livro, o que envolverá, como verificaremos, aspectos
simultaneamente poéticos e históricos.
Frauta de barro, seja pela excelência de sua composição, seja pelo
seu surgimento promissor no Prêmio Olavo Bilac – mais ainda le-
vando em consideração a banca que o julgou –, teve acolhida ini-
cial muito favorável, o que possivelmente anunciava um caminho
igualmente favorável para a obra, fazendo rumar seu autor para
o reconhecimento nacional. Por si só, uma questão extremamente
importante para escritores diversos, o reconhecimento em nível na-
cional é, para um autor da província, quase sempre, uma espécie de
Graal. Assim, tendo a primeira edição sob os cuidados da Livraria
São José, do Rio de Janeiro – ainda que, devemos anotar, sob os
auspícios financeiros do Governo do Estado do Amazonas –, a obra
de Luiz Bacellar despontava com condições bastante positivas para
ser assimilada ao cânone da literatura brasileira. A importância de
ter sido editado por essa casa se mede pela relevância da Livraria
São José para a cena intelectual do Rio de Janeiro entre os anos
1940 e 1960; autores como Bandeira, Drummond, Ferreira de Cas-
tro e Miguel Ángel Astúrias visitaram ou promoveram lançamentos
e noites de autógrafos naquele importante espaço cultural. Enfim,
iniciar uma carreira literária em meio a semelhante atmosfera dava
à figura de Luiz Bacellar auspiciosos prognósticos, virtual reconhe-
cimento público, em escala nacional, e consequente assimilação ao
cânone. Essa assimilação e esse reconhecimento, contudo, jamais se
instalaram.
Na verdade, há um contexto positivo para o Amazonas peran-
te a cena nacional, no início da década de 1960. Nessa cena histó-
rica, dava-se uma das manifestações mais renovadoras, em termos
estéticos, no estado. Trata-se do Clube da Madrugada, movimento
oficialmente inaugurado em 1954 e que teve a participação ativa
e protagonista de Bacellar, um de seus fundadores. O movimento
primordial que levou à efetivação do Clube da Madrugada iniciou-se
em meados dos anos de 1940, quando grupos de jovens estudantes
se reuniam para estudar e debater questões dos mais diversos mati-
16 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
zes culturais. Foi o descompasso estético, político e cultural entre a
geração ascendente e as gerações estabelecidas nesse período que
fomentaram o movimento, cuja marca revolucionária tem na aber-
tura social da arte um de seus principais signos. As reuniões, os
seminários, as exposições públicas revelam uma forte tendência ao
debate e à reflexão sobre o processo artístico, o que, em Bacellar,
converteu-se em estudo dos aspectos culturais (como fonte de tra-
balho) e poéticos (duplamente, como ferramentas e efeitos). Essa
geração se alinha à cena mais ampla no Brasil, entre as décadas de
1940 e 1950, na qual se nota tanto a atenção aos recursos provenien-
tes da cultura popular (seus temas, sua linguagem, etc.) quanto uma
renovação da disposição para o apuro técnico. A obra de Guimarães
Rosa é exemplo da reunião desses traços, dada sua complexa dialé-
tica entre a investigação da linguagem e a cosmovisão extraída, em
parte, da cultura popular. O que quero demonstrar é que a obra de
Luiz Bacellar surge identificável com o próprio movimento da litera-
tura brasileira em plano nacional, havendo nela, ainda, a qualidade
de tratar de uma espacialidade cultural quase nada explorada pela
poesia até então no cenário brasileiro. Ou seja, não se trata apenas
da possibilidade de se filiar a um amplo movimento literário nacio-
nal, mas também de ressignificar essa cartografia com a inserção de
novos dados poéticos e culturais.
Registro de que o momento era bastante propício para o conhe-
cimento da literatura do Amazonas é o aparecimento de outras duas
obras de rara qualidade, no mesmo ano da publicação de Frauta de
barro, e igualmente com repercussão bastante positiva em primeira
hora: O outro e outros contos, de Benjamin Sanches (1915-1978), e Ala-
meda, de Astrid Cabral. Sanches, por exemplo, colaborava com o Su-
plemento Dominical do Jornal do Brasil nos anos de ápice do caderno;
seus contos poderiam ser lidos como uma face original das incur-
sões experimentalistas numa vertente concretista em prosa, o que
significaria um desdobramento dessa vanguarda. E Astrid Cabral
dilui lirismo na narração, tornando-se uma potencial colaboradora
para uma perspectiva que vinha se fortalecendo no Brasil desde
Cornélio Pena e Lúcio Cardoso, no que diz respeito ao tratamento
sugestivo e lírico da linguagem ficcional.
São livros que facilmente seriam incorporados ao cenário lite-
rário brasileiro já em seu contexto de lançamento, caso tivesse ocor-
rido, entre a crítica local do Amazonas, um primeiro trabalho de
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 17
leitura apurado, consonante à envergadura desses textos. Ainda não
se produziu uma História da Crítica Literária no Amazonas, mas o
que se conhece das fontes indica-nos importantes pistas. Na primei-
ra metade do século XX, nota-se a predominância de uma vertente
academicista, em que se destaca o nome de Péricles Moraes (2001)
a legislar sobre o gosto literário local. Essa tradição, centrada na
Academia Amazonense de Letras, é um dos elementos contra os
quais se insurge o Clube da Madrugada. Sem dúvida, como em ou-
tros setores, o Clube da Madrugada renovou também o olhar crítico
estético. Muitos são os textos de membros do Clube recolhidos às
páginas de jornal da época, sobretudo no Suplemento Madrugada,
entre as décadas de 1960 e 1970. Essa prática ajudou a remodelar o
campo intelectual no Amazonas. Contudo, o espírito coletivo, ponto
forte no movimento, trouxe um efeito negativo para a recepção de
autores cujas obras estavam muito acima da média de seus pares,
como é o caso de Frauta de barro. Sem o distanciamento necessário
para uma crítica justa e sem a presença, ainda, de outras formas de
crítica, como a universitária, os títulos que mereceriam destaque
acabavam, em termos de recepção crítica, por ter tratamento seme-
lhante ao de obras relativamente inferiores.
É curioso, pois, notar que a invisibilidade literária de certas re-
giões brasileiras aos olhos de outras tenha seu nascedouro na re-
lativa invisibilidade da literatura local aos olhos dos que deveriam
ser seus mais imediatos leitores críticos. Enfim, é uma questão que
deve ser melhor discutida, talvez noutra oportunidade. No entanto,
o efeito disso, o dado da invisibilidade nacional, será de grande va-
lia adiante, quando tratar de minha hipótese de trabalho. Por ora,
ele deve ser registrado e deve ser acrescida a observação de que há
algo de dramático no fato, quando se considera que a obra de Luiz
Bacellar não se calou em uma ou duas edições, mas continuou com
uma vida em desdobramentos através de suas várias edições, como
a permanência de um grito surdo.
Passemos a considerar as alterações efetuadas em Frauta de bar-
ro ao longo dessas cinco décadas. E são tantas, que precisei organizá-
-las em uma classificação, estabelecendo a seguinte tipologia, dividi-
da em dois parâmetros. Primeiro, quanto ao caráter da modificação,
18 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
têm-se supressão, inserção e substituição. Em segundo lugar, quan-
to ao campo, encontramos aquelas de ordem afetivo-conjuntural e
poético-formal. Os elementos desse último grupo classificatório têm
desdobramentos. Assim, observam-se modificações relativas ao cam-
po poético-formal que podem ser associadas aos aspectos melódico,
semântico e estrutural da poesia (quando reordenações ou reloca-
ções de versos, estrofes e, muitas vezes, de poemas inteiros aconte-
cem). Ainda ligadas ao campo formal, há alterações de ordem mais
ou menos externa ao poeta, como atualizações ortográficas e erros
ou limitações editoriais.
Para ilustrar um pouco a cambiante forma de Frauta de barro,
darei alguns exemplos de alterações verificadas na obra. Comparan-
do simplesmente a 1ª com a 2ª edição, temos duas importantes in-
serções de poemas: onde havia “Dez haicais”, passamos a ter “Doze
haicais”; e no apêndice (que deve ser entendido como um livro den-
tro de outro) “Quatro movimentos”, nas seções “Carta pastoral” e
“Carta náutica”, há a inclusão de quatro poemas, sendo dois em
cada seção. Curiosamente, o primeiro procedimento de inserções
ocorre em partes do livro que, mais tarde, dariam origem a outros
dois livros de Bacellar – Crisântemo de cem pétalas (1985), em parceria
com Roberto Evangelista, que mais tarde se reduziu a Satori (1999),
agora apenas com os haicais de autoria de Bacellar –, e Quatro movi-
mentos (1975), mais tarde nomeado Quatuor (2006).
Já aqui, uma observação contextual que exemplifica a consciên-
cia de Bacellar sobre o livro como objeto estético, o que podemos
entender como uma das possíveis causas (e ao mesmo tempo, con-
sequência) do rearranjo da obra; vejam-se, pois, a segunda edição
de Frauta e a edição primorosa de Crisântemo de cem pétalas. No pri-
meiro caso, um projeto gráfico de Lygia Pape, com título e nome do
autor em alto-relevo na capa e espelhados, inversamente, na quarta
capa, sem no entanto haver diferença de cor entre as letras e o fundo
nas capas, tudo tomado por um cinza metálico, quase prata. Outro
detalhe importante nesse projeto é a tinta, também cinza e metáli-
ca, tomando toda a área do corte das páginas. Isso promove efeito
interessante, pois, visto o corte a partir do perfil de uma única pá-
gina, mal se divisa a tinta, porém, reunindo-as todas, o prateado se
impõe. Vale também assinalar que essa edição traz, em folha solta,
de papel de seda, translúcida, um poema da própria Lygia Pape, que
transcrevo:
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 19
LIVROBJETO
A ideia foi criar um livro
que fosse também um
objeto sensorial-visual.
Os poemas começam a penetrar
o leitor pelas pontas dos dedos
como uma leitura braile,
sobre a prata macia
Sensorialmente,
o livro começa a desvendar
sua música-poema,
ao ser manuseado.
Depois,
ao abrir da capa,
a leitura se faz mais rica,
para além,
somente,
do discurso lido.
Poesia plena
(1977, s/n.p.)
O outro exemplo é a magnífica edição de Crisântemo de cem pé-
talas. Como já disse, trata-se de um conjunto de cem poemas, todos
haicais, metade de Bacellar e metade de Roberto Evangelista, impor-
tante artista plástico. Os poemas estão guardados em um livro-caixa
de madeira, sem nenhum signo externo além de uma circunferên-
cia, também de madeira, sobreposta na capa. No interior, os haicais
se dispõem individualmente em folhas soltas, em papel cartão de
alta gramatura, com textura. Destaca-se a inclusão de ilustrações de
Jair Jacqmont, uma para cada poema, irrepetíveis. Todas as folhas
são vazadas na parte superior, por onde as atravessa um pino de ma-
deira, único elemento a uni-las, ao menos provisoriamente, uma vez
que a leitura só é possível mediante o despetalar do livro.
Voltando ao nosso ponto, ainda entre as duas primeiras edições
de Frauta de barro, um registro importantíssimo a ser feito é a retira-
da das doze ilustrações que compunham com os poemas, efetuadas
20 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
por cinco artistas plásticos, como Álvaro Páscoa, Moacir Andrade e
Óscar Ramos. Isso tanto pode se dever à impermanência da autori-
zação dos artistas e/ou de suas famílias, como pode ser resultado
de restrições editoriais, pois a 2ª edição, como acabo de informar,
teve projeto visual criado por uma artista para cuja concepção as
ilustrações poderiam não compor adequadamente. Dado curioso é
que essa edição surgiu como um projeto promocional das Indústrias
Gerais da Amazônia, fabricante de calculadoras... Depois, vieram
edições governamentais mal cuidadas (caso da 4ª edição, que saiu
pela Gráfica do Senado) ou edições comerciais um tanto simplórias
(caso da 3ª). O fato é que algumas, e apenas algumas, dessas ilustra-
ções retornariam somente na 6ª edição, em 2005, isto é, quase trinta
anos depois de sua retirada, e, mais recentemente, na 7ª edição,
em 2011, quando se emula, em parte, a primeira edição. Ainda no
que diz respeito às supressões entre as duas primeiras edições, cabe
registro do desaparecimento de dois poemas: “O armário” e “Deta-
lhe”, que, aliás, retornariam na 3ª edição, mas em ordem invertida.
São, por si só, alterações extremamente significativas. Mas ou-
tras igualmente importantes ocorreriam. Uma das supressões mais
marcantes se daria da 2ª para a 3ª edição, quando um conjunto de
33 poemas deixa de fazer parte da obra. Esse conjunto originou,
como já referido, o livro Quatro movimentos. Embora a vida própria
desse livro tenha se ensaiado em 1975, quando Bacellar lança-o pela
primeira vez isolado de seu contexto de origem, na 2ª edição de
Frauta de barro, em 1977, esses poemas retornam ao seu conjunto
original, apartando-se daí definitivamente da 3ª edição em diante.
Essa edição, aliás, guarda uma das informações mais importantes
para nossos propósitos, pois, na folha de rosto do livro, lê-se: “Frau-
ta de barro (Novamente Modulada)”. Essa informação dá uma medi-
da do projeto e do processo de Luiz Bacellar para constante restru-
turação de sua obra.
Não desgastarei o leitor com uma longa lista de alterações sofri-
das pela obra, afinal temos um registro em 40 páginas pontuando
tudo o que encontramos durante pesquisa de dois anos de duração,
o que totaliza mais de duas centenas de modificações. Mas poderia
deixar registrado que algumas delas são bem curiosas, como a reti-
rada de dedicatórias; por exemplo, o poema “A escada”, dedicado a
Thiago de Melo até a 2ª edição, foi-lhe tomado de volta a partir da
3ª, como quem toma de volta um presente, havendo ocorrido o mes-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 21
mo com outras dedicatórias, como as feitas para Moacir Andrade e
Farias de Carvalho, entre muitas outras. Mas encontram-se também
inserções de dedicatória onde antes não havia. Na mais recente edi-
ção, isso ocorre com o mais importante dos oferecimentos, aquele
que abre o livro, nas seguintes palavras:
Este livro pertence a
Joana de Lima Teixeira,
Dame imperienne de mon coeur enflamme
(D’apres François Corbier alias Villon)
Nesta edição corrijo uma injustiça por mim cometida nas edi-
ções anteriores deste livro e de todos os livros de minha autoria.
(2011, p. 5)
Por fim, deixo um exemplo de uma alteração complexa, mais
especificamente uma substituição, pois, sendo pertinente a princí-
pio ao campo conjuntural, ela tem repercussão no campo formal.
Trata-se do “Soneto do porta-níqueis”, que em seu 9º verso, até a 2ª
edição, dizia “dentre CRUZEIROS já ouvi” (BACELLAR, 1977, p.
20), e, a partir da 3ª edição, passou a dizer “dentre CRUZADOS já
ouvi” (BACELLAR, 1989, p. 23). Ou seja, uma mudança derivada
do padrão monetário brasileiro trouxe outra imagem ao texto, na
verdade mais afim com a atmosfera monárquica e medieval que o
poema enseja. Eis o poema como está na 7ª edição:
SONETO DO PORTA-NÍQUEIS
Ó meu surrão de algibeira,
minha escarcela sem ouro:
tal rodela aventureira
nunca viu teu puído couro!
Por, em teus compartimentos,
guardar, dos imperiais
tempos (tais meus sentimentos)
cunhos que não correm mais,
dentre CRUZADOS já ouvi
que um velho VINTÉM dizia:
Duque! O senhor... por aqui?
22 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Logo um DOIS MIL-RÉIS: Quem há de
ter, a Vossa Majestade,
posto em tão má companhia?
(2011, p. 32)
A assinatura da proposta inquieta de reconfiguração perma-
nente de Frauta de barro, verificada por esses exemplos e afirmada
pelo próprio poeta, como vimos, é algo que podemos admitir estar
relacionado à personalidade literária caprichosa de Bacellar, como
tem sido apontado por alguns críticos (cf. TELLES, 1998; KRÜGER,
2007). Mas gostaria de acrescentar a isso três outras possibilidades
interpretativas.
Uma leitura que entrecruze esse caráter dinâmico de Frauta de
barro com outros aspectos da obra pode mostrar que há elementos
constituintes de seu discurso lírico que exigem permanente refor-
mulação. O primeiro desses elementos que gostaria de assinalar é a
musicalidade estruturante da obra. Isso tanto diz respeito a formas
mais ou menos “visíveis” que denotam a presença da música, quanto
a sutilezas ontológicas que mais se aproximam do ritmo como con-
cebido por Octavio Paz em El arco y la lira:
La constante presencia de formas rítmicas em todas las expre-
siones humanas no podía menos de provocar la tentación de
edificar una filosofía fundada em el ritmo. Pero cada sociedad
posee un ritmo proprio. O más exactamente: cada ritmo es una
actitud, un sentido y una imagen del mundo, distinta y particu-
lar. Del mismo modo que es impossible reducir los ritmos a pura
medida, dividida en espacios homogéneos, tampoco es possible
abstraerlos y convertirlos en esquemas racionales. Cada ritmo
implica una visión concreta del mundo. Así, el ritmo universal
de que hablan algunos filósofos es una abstracción que apenas
si guarda relación con el ritmo original, creador de imágenes,
poemas y obras. (1967, p. 61)
As marcas sonoras e rítmicas em Frauta, como já dito, são bas-
tante perceptíveis, dentro dessa compreensão que se tem de ritmo
– como cadência. Entretanto, noutra direção, o que Paz nos elucida
é que: “El ritmo es más que medida, algo más que tiempo dividido
em porciones. La sucesión de golpes y pausas revela una cierta in-
tencionalidad, algo así como una dirección.” (1967, p. 57). É justa-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 23
mente essa direção, de que fala o poeta mexicano, o que se procura
entender quanto ao ritmo de Frauta de barro.
O conceito de ritmo perde seu caráter de medida e passa a su-
por uma estrutura de pensamento que dá origem à linguagem sono-
ra, seja ela qual for, um ritmo anterior às palavras e “esas palabras
surgen naturalmente del ritmo, como la flor del tallo” (1967, p. 58).
No entanto, como o próprio Paz diz em seu texto, esse ritmo é ina-
preensível, inqualificável, invisível, assim como se mostram “o tema
e as variações” da composição de Frauta de Barro.
Sugerida desde o título, a importância da música na composi-
ção do livro vai ficando notória conforme se avança em sua leitura,
quando nos deparamos com baladas, cirandas, noturnos, canções,
trenos, etc. Há, ainda, formas musicais eruditas associáveis e igual-
mente marcantes, como a suíte, que também explicaria a forma com-
pósita de Frauta de barro, e o “Ostinato”, o mesmo que interessou a
Blanchot e que, para os propósitos desta leitura, muito tem a escla-
recer. Quando trata da obra de Louis-René des Forêts e do silêncio
desse autor, Blanchot comenta: “É que talvez ele se tenha dado conta
de que, para não escrever mais, seria preciso continuar a escrever,
uma escrita sem fim até o fim ou a partir do fim. [...] Daí [...] a orga-
nização fragmentária, a falta de continuidade do Ostinato” (2011, p.
26). Em relação ao que seria essa forma na sua manifestação tempo-
ral de um presente, Blanchot afirma que:
O presente em Ostinato tem diversas particularidades: às vezes,
lembranças ocultas que uma memória incomparável – uma me-
mória trágica – traz de volta à luz do dia, obrigada a reviver
como se ainda não tivesse ocorrido, como se fosse necessário
passar mais uma vez pela atualidade [...]. ( 2011, p. 27)
Dessa forma, com palavras que parecem talhadas para comen-
tar a obra em incessante espiral remodeladora de Luiz Bacellar,
observa-se que o aspecto musical notável em Frauta de barro está
duplamente ligado ao plano sensível e ao plano ôntico, na verdade
confundindo pretensos limites entre ambos. E assim, a variação do
mesmo tema, outra estrutura musical de caráter repetidor, de algu-
ma forma subentendida nos três sonetilhos de abertura, “Variações
de um prólogo”, em cujo estrambote se lê “É o tema recomeçado/
na minha vária canção”, tanto decorreria de uma característica for-
24 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
mal da poesia do livro quanto daquilo que a impulsiona na história
– e talvez contra a história.
Mas, além dessa visibilidade da música, nada desprezável, diga-
-se de passagem, há uma presença oblíqua da musicalidade, pos-
sivelmente notável pelo fato de (leitura minha) Frauta de barro ser
um único poema, composto por várias pequenas seções. Em outras
palavras (e aqui entramos no segundo elemento constituinte do dis-
curso lírico da obra), ao que parece Frauta de barro é um pequeno
épico, e, como tal, canta a memória mítico-histórica de um lugar ou
de um povo – neste caso, a cidade de Manaus, uma que já não mais
existia plenamente quando do início da construção do livro.
E ao dizer “povo”, quero mesmo enfatizar o caráter popular de
vários motes dos poemas, especialmente nas seções “Romanceiro
suburbano” – lembrando que originalmente romanceiro era um
conjunto de canções/romances, assemelhado ao que hoje estuda-
mos como cancioneiro – e os “Sonetos provincianos”. Encontram-se
certos elementos de uma cultura narrativa popular de Manaus que,
no início do século XX, eram presentes no cotidiano da cidade, his-
tórias de caráter místico ou satírico, preenchidas por uma galeria
de personagens do imaginário popular da cidade antiga, como o
romance da santa milagreira “canonizada” pelo povo, os fantasmas
de madrugada na praça, local de antigo cemitério, a morte da fratri-
cida, engolida por um monstro aquático, entre muitas outras figuras
cujos “causos” circulavam tanto entre o povo como na literatura po-
pular. Encontramos, por exemplo, o registro da poesia de Antônio
Mulatinho, poeta nascido no Rio Grande do Norte que viveu no
Amazonas durante a primeira metade do século XX e que cordeli-
zou alguns desses temas, como o de Santa Etelvina. Essas narrativas,
que eram recontadas na cidade, segundo registra Mário Ypiranga
Monteiro, em seu segundo volume do Roteiro do Folclore Amazônico
(1974), dizem muito sobre o imaginário da população manauara
naquele tempo, hoje esquecido e diluído através dos anos.
A poesia ou o conto popular, transmitidos oralmente, de manei-
ra espontânea e improvisada, emana uma performance, compreen-
dida, para Paul Zumthor (2010, p. 12), como uma “ação complexa
pela qual uma mensagem poética é simultaneamente, aqui e agora,
transmitida e percebida”. Ela, “além de um saber-fazer e de um sa-
ber-dizer, […] manifesta um saber-ser no tempo e no espaço. O que
quer que, por meios linguísticos, o texto dito ou cantado evoque,
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 25
a performance lhe impõe um referente global que é da ordem do
corpo” (2010, p. 165). Isto é, a performance é transmitida através do
corpo, da voz, pela pessoa que vivencia e compreende aquela cultu-
ra. Ao seu receptor cabe apreendê-la através do visual e do auditivo.
E se o livro fosse o corpo da literatura? Seria também um corpo
performático e mutável?
Como fonte de temas, a apropriação da cultura popular para
a elaboração de uma literatura secular não raro esteve presente na
História da Literatura. Os vários faustos, de Marlowe a Guimarães
Rosa, originados na lenda medieval, e a peça O auto da compadeci-
da, de Ariano Suassuna, a partir da literatura de cordel, são alguns
exemplos. Ambas as obras, assim como Frauta de barro, são trans-
posições de conhecimentos e imaginário do povo, anônimos e es-
sencialmente orais, para uma literatura escrita e de “alta cultura”.
Observando a História, segundo Peter Burke, “foi no final do século
XVIII e início do século XIX, quando a cultura popular tradicional
aparentemente entreva em declínio, que o ‘povo’ (folk) se converteu
num tema de interesse para os intelectuais europeus” (2010, p. 19)
e contos, poemas e baladas populares começaram a ser registrados
em coletâneas e na literatura.
Apesar do caráter fugidio da expressão oral, as pesquisas sobre
a poética da voz, ligada à sociedade que a organizou, muito têm a
acrescentar aos estudos literários; principalmente ao concebermos
que o nascimento da literatura deu-se, em essência, na voz, na can-
ção e no ritmo. Contudo, muitas vezes, a cultura oral, tida como
“atrasada” e não-científica, é subjugada à escrita, esta representando
o que é científico, concreto e real. Sobre isso, Zumthor diz que “em
razão de um antigo preconceito em nossos espíritos e que performa
nossos gostos, todo produto das artes da linguagem se identifica com
uma escrita, donde a dificuldade que encontramos em reconhecer
o que não o é” (2010, p. 9). Dessa forma, seria legítimo reconhecer
as reminiscências de uma cultura oral, ligada a um tempo-espaço
cultural do povo, presentes na lírica de Bacellar.
Ao incorporar motes da cultura popular, a obra de Bacellar pa-
rece ter assimilado certa característica do principal gênero que a
veicula, as narrativas orais: sua necessidade, para não desaparecer,
para manter seu registro, e/ou sua opção poética, de permanente
recontar. Esses elementos, o musical e cultural popular, estão in-
timamente relacionados. Daí, a opção, em vários poemas, pela re-
26 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
dondilha, mesmo em sonetos – ou sonetilhos, como seria correto
afirmar. O que parece mais importante, porém, para nosso foco é
que ambas as estruturas estão relacionadas ao caráter de repetição
variada que visualizamos na trajetória da obra.
Há, ainda, um terceiro elemento, menos reconhecível a partir
de títulos do que na leitura integral da obra. Esse terceiro aspecto
atravessa os poemas como uma linha condutora, dialogando com
os dois elementos acima referidos. Trata-se da memória (afetiva, cul-
tural, espacial e literária). O modo mais ou menos visível como se
apresenta esse terceiro fator é o que podemos chamar de colecionis-
mo inerente à obra de Bacellar: coleção de objetos, de influências
literárias, de histórias populares, de espaços e, finalmente, de esté-
ticas literárias que antecederam a produção do poeta. Para o que
se segue, devo agradecer ao Prof. Fadul Moura, que em pesquisa
orientada por mim levantou os componentes dessas coleções.
Entre os primeiros poemas de Frauta de barro, encontramos a
série “Dez sonetos de bolso”, em que o gesto de recolher e guar-
dar objetos é tão marcante quanto à animização proposta pelos
poemas. A posição desses sonetos no conjunto do livro, logo ao
início, pode ser lida como uma declaração da proposta geral da
obra, marcada por um lirismo com forte apelo na concretude da
vida, assim como no plano simbólico da existência. Além disso,
esses poemas talvez indiquem o próprio gesto colecionador como
emblema da memória.
Outras coleções juntam-se à dos objetos. Chama atenção a cole-
ção de histórias que a oralidade popular cultivou na Manaus antiga,
como referi acima. Misturando humor e melancolia, os poemas das
seções “Romanceiro suburbano”, “Sonetos provincianos” e “Notur-
nos municipais” baseiam-se em contos locais, como já sabemos. Ca-
beria acrescentar que, no bojo desses poemas, nota-se um desdobra-
mento desse acervo, pois muitas vezes a coleção de contos populares
desencadeia outra forma de coleção – a dos espaços percorridos
pelo afeto e pela memória.
Há, ainda, dois elementos ligados ao colecionismo bastante inte-
ressantes, assim como correlacionáveis. Trata-se, primeiramente, da
biblioteca afetiva do poeta, na qual encontraremos, explicitamente,
figuras como François Villon, Jonathan Swift, Luís de Camões, Jorge
de Lima e Sebastião da Gama (todos com presenças marcadas por
epígrafes ou dedicatórias). Esse último, poeta português do século
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 27
XX, teria sido a inspiração para os sonetos de bolso, como se pode
depreender, além da dedicatória que Bacellar lhe faz, pelo seguinte
poema do português:
SONETO DO GUARDA-CHUVA
Ó meu cogumelo preto
minha bengala vestida
minha espada sem bainha
com que aos moiros arremeto
chapéu-de-chuva, meu Anjo
que da chuva me defendes
meu aonde por as mãos
quando não sei onde pô-las
ó minha umbela – palavra
tão cheia de sugestões
tão musical e aberta!
Meu pára-raios de poetas
Minha bandeira da Paz,
Minha musa de varetas!
Ainda se encontram menções a Fernando Pessoa, Höderlin,
Rainer Maria Rilke, Chaplin e Garcia Lorca, na série dos poemas
dedicados. Da mesma forma, nota-se uma coleção de estilos de épo-
ca pelos quais Frauta de barro transita, em vários graus de uso (como
pastiche, citação, paródia, etc.), e dialoga na forma de revisitações
de experiências estéticas, como o Barroco, o Surrealismo, o Arca-
dismo, entre outros.
Os diversos arquivos em forma de coleções acima esboçados
nos provocam a pensar sobre a transição do mundo em dispersão
para um universo organizado de que se trata um livro de poemas,
afinal, fora da sua realidade de origem, cada objeto/sujeito se deixa
assimilar pela subjetividade do poeta, integrando-se igualmente a
outra contextualização e mesmo outra historicidade, como observa
Jean Baudrillard acerca da reversão da funcionalidade original dos
objetos colecionados (2000). Ao mesmo tempo, os objetos/sujeitos
acrescentam matizes à subjetividade do poeta, que também já não
será mais o mesmo. Por fim, o gesto colecionador não se pacifica,
28 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
pois as coleções são sempre passíveis de recombinações, rearranjos.
E tal é o que revelam as reconfigurações de Frauta de barro; cada for-
mato é apenas (ou plenamente) provisório no mundo colecionado
da obra.
Para encaminhar uma conclusão e, ao mesmo tempo, uma hipó-
tese de trabalho para estudos vindouros, gostaria de primeiramente
assinalar algo que está sub-repticiamente unindo os elementos até
aqui levantados – a repetição da obra, o aspecto musical, os ele-
mentos da memória, seja ela popular, seja dos arquivos da história
da literatura, afetiva e pessoal, verificáveis na obra, e a perspectiva
da recepção da obra. E o que visualizo como argamassa entre esses
temas é o tempo: o tempo físico da música, de sua consecução, da
intercalação entre som e silêncio que marca o tempo; o tempo entre
um livro e outro, como o breve e pleno tempo de um ciclo de vida; o
tempo necessário para se efetuar a rememoração de um outro tem-
po da vida e da cultura de uma cidade ou da própria literatura; por
fim, o tempo da expectativa de acolhimento público nacional, que
nunca chegou a ser uma realidade. Tomado por essa constatação,
passei a me interrogar: na régua temporal a que estamos habitua-
dos, das medidas de passado, presente e futuro, qual ou quais dessas
medidas preponderam em Frauta de barro?
Desde então, novas e cuidadosas leituras têm surpreendido, ao
revelarem que a obra se realiza numa dinâmica entre passado e pre-
sente. O tempo de enunciação é quase sempre o passado; “dentro”
da obra, se puder assim dizer, estamos no império da memória,
constantemente remetidos à história e ao mito que fundam deter-
minada cultura. Mas o ato da repetição, da reedição da obra tem o
propósito e gera realmente um efeito de permanente atualização,
retorno a um estar-agora-novamente. O tempo, porém, de que se
exiliou a obra é o futuro, pois, à exceção de um dos elementos le-
vantados até agora (e, aliás, de suma importância para se explicar tal
exílio), ou seja, do virtual e nunca dado tempo do reconhecimento
público amplo da obra, nada que envolve a composição e a vida de
Frauta de barro aponta para um porvir.
E é aqui que surge minha hipótese; de que o caso de Frauta de
barro revela a existência de uma poética para a qual um artista cuja
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 29
obra esteja sob a ameaça do esquecimento – em outras e melhores
palavras, a ameaça de que a sua invisibilidade atual permaneça no
futuro, próximo ou distante –, enfim, a existência de uma poética
de presentificação constante para a qual o artista nessa condição
convergiria. A experiência negativa com a perspectivação do futuro
que viveu o autor talvez tenha criado, para ele e sua obra, uma ne-
gativização do próprio futuro, dando-nos a impressão de estar ela,
a obra, presa em algo como um círculo temporal realizável apenas
entre passado e presente. Isso explicaria em parte a proximidade da
obra em questão com formas orais de expressão, pois muitas dessas
formas, indo de encontro ao ethos do discurso histórico tradicional
e hegemônico, preservam a reversibilidade, dada justamente a sua
poética de repetição (isto é, de reinvenção), em contraponto à irre-
versibilidade da história, se essa se calcar numa perspectiva conser-
vadora.
Ainda e sempre haverá muito que investigar, tanto na mate-
rialidade dessa obra quanto em sua constituição ontológica. Por
ora, não deixa de ser empolgante pensar termos em mãos uma
obra que tem no tempo tanto um problema como a ferramenta
para uma poética. Se Paul Valéry houvesse conhecido a história
de Frauta de barro, talvez reconhecesse nela o direito de pertencer
ao rol das obras empolgantes porque incessantes. Em seu texto
“Acerca do Cemitério Marinho”, Valéry afirma não concordar com
determinados tipos de literaturas que detêm ao longo dos anos
arrependimentos, dúvidas ou escrúpulos, pois o poeta não deveria
jamais afastar-se das condições ingênuas e naturais da literatura e
confundir insensivelmente a verdadeira composição de uma obra
do espírito, que é finita, com a do próprio espírito, que é uma for-
ça de transformação contínua. Ele diz preferir aquelas que sempre
estejam num trabalho de renovação constante, preservando a ques-
tão de “um poema nunca estar terminado, mas apenas momenta-
neamente abandonado” (2011, p. 173).
30 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Referências
BACELLAR, Luiz. Frauta de barro. 9. ed. Manaus: Valer, 2011.
______. Frauta de barro. 6. ed. Manaus: Valer; Governo do Estado do Amazonas;
Edua; UniNorte, 2005.
______. Frauta de barro. 5. ed. In: Quarteto: obra reunida. Organização e estudo
crítico de Tenório Telles. Manaus: Editora Valer, 1998. p. 21-104.
______. Frauta de barro. 4. ed. In: Frauta de barro & Quatro movimentos. Brasília:
Gráfica do Senado, 1992. p. 7-83.
______. Frauta de barro. 3. ed. Manaus: Editora Calderaro, 1989.
______. Frauta de barro. 2. ed. Manaus: Indústrias Gerais da Amazônia S/A, 1977.
______. Frauta de barro. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1963.
BANDEIRA, Manuel; ANDRADE, Carlos Drummond de; FONSECA, José Paulo
Moreira da. Parecer. In: BACELLAR, Luiz. Frauta de barro. 9. ed. Manaus: Valer,
2011. p. 143-144.
BAUDRILLARD, Jean. O sistema dos objetos. Trad. Zumira Ribeiro Tavares. São Pau-
lo: Perspectiva, 2000.
BLANCHOT, Maurice. Uma voz vinda de outro lugar. Trad. Adriana Lisboa. Rio de
Janeiro: Rocco, 2011.
BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna: Europa 1500-1800. Trad. Denise
Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
GAMA, Sebastião da. “Soneto do guarda-chuva”. Disponível em: http://poemasga-
mavirtual.blogspot.com.br/2014/11/soneto-do-guarda-chuva.html. Acesso em: 09
de abril de 2017.
KRÜGER, Marcos Frederico. A sensibilidade dos punhais. Manaus: Edições Muira-
quitã, 2007.
MONTEIRO, Mário Ypiranga. Roteiro do folclore amazônico.(Tomo II). 2. ed. Manaus:
Edições Fundação Cultural do Amazonas, 1974. (Etnografia Amazônica, I).
MORAES, Péricles. Os intérpretes da Amazônia. Manaus: Valer; Governo do Estado
do Amazonas, 2001.
PAPE, Lygia. Livrobjeto. In: BACELLAR, Luiz. Frauta de barro. 2. ed. Manaus: In-
dústrias Gerais da Amazônia S/A, 1977. s/n.p.
PAZ, Octávio. El arco y la lira. México: Fondo de Cultura Económica, 1967.
TELLES, Tenório. Tempo e poesia em Luiz Bacellar. In: BACELLAR, Luiz. Quarte-
to: obra reunida. Organização e estudo crítico de Tenório Telles. Manaus: Editora
Valer, 1998. p. 11-19.
VALÉRY, Paul. Variedades. Trad. Maiza Martins de Siqueira. São Paulo: Iluminuras,
2011.
ZUMTHOR, Paul. Introdução à poesia oral. Trad. Jerusa Pires Ferreira, Maria Lúcia
Diniz Pochat, Maria Inês de Almeida. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 31
Astrid Cabral:
metáforas do eu-poético poeta
Carlos Antônio Magalhães Guedelha
Em osmose com o cosmo
vive o poeta.
Metamorfosear a dor
na flor do verbo
a maior meta.
(Meta, de Astrid Cabral)
Introdução
D iscorro, neste texto, sobre a metapoesia de Astrid Cabral, uma
escritora do Amazonas que vem produzindo poesia, em livros,
desde o ano de 1963, quando veio à luz a sua primeira obra, intitula-
da Alameda, que se trata de um livro de contos no qual prosa e poesia
convivem numa harmonia tal que chega a ser desconcertante para o
leitor acostumado a pensar que prosa e poesia habitam em mundos
diferentes e distantes um do outro. Depois ela trouxe a lume mais de
uma dúzia de livros de poemas, que têm sido objetos de estudo em
todo o país. Astrid, em seus textos, parece não abrir mão da ferra-
menta da metalinguagem, uma vez que, não raro, ela concede voz a
um eu poético que também é poeta, e este, numa atitude narcísica,
fala metaforicamente sobre si e sobre seu ofício. São as metáforas
verbalizadas por essa voz que procuro rastrear neste estudo.
1. A sistematicidade da metáfora
Para a análise dos poemas de Astrid Cabral, neste estudo, assu-
mo o conceito de metáfora formulado por Lakoff e Johnson (2002,
p. 47-48), como segue: “a essência da metáfora é compreender e
experenciar uma coisa em termos de outra”, ou seja, usamos expres-
sões referentes a um determinado domínio da realidade para falar,
metaforicamente, de conceitos correspondentes a outro domínio da
32 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
realidade. Ao primeiro domínio, aquele que fornece os termos para
a expressão metafórica, Lakoff e Johnson denominaram de “domí-
nio-fonte”. Ele é a fonte de referências; ao segundo domínio, corres-
pondente ao que se quer expressar, denominaram de “domínio-alvo.
É nele que as referências são aplicadas”.
Toda metáfora, segundo esses teóricos, movimenta conceitos e
concepções do domínio-fonte, que é mais facilmente compreendi-
do, em direção ao domínio-alvo, que queremos compreender me-
lhor. Por isso, uma metáfora pode ser representada dessa forma:
“DOMÍNIO-ALVO É DOMÍNIO-FONTE”, como no caso da metáfo-
ra “TEMPO É DINHEIRO”. Queremos compreender o tempo, e o
fazemos por meio da concretude do dinheiro, que já compreende-
mos perfeitamente, por estarmos habituados a lidar com ele.
Para exemplificar com uma metáfora da lavra de Astrid Cabral
(1979, p. 30), apresento o verso “Derramo minha emoção / em taças
de palavra e papel”, utilizada por ela em um dos poemas do livro
Ponto de cruz. Essa expressão metafórica verbaliza a metáfora “PO-
ESIA É BEBIDA”, em que o domínio-alvo é a poesia e o prazer que
ele proporciona, seu poder inebriante, e o domínio-fonte é o sabor
e o encanto da bebida, especialmente o vinho. Isso permite compre-
ender, experenciar e verbalizar a poesia em termos de bebida, como
fez Astrid em Ponto de cruz. Consequentemente, a concepção que o
leitor tem sobre o sabor do vinho é transposta para o sentido da po-
esia, podendo ele, o leitor, abstrair metaforicamente a arte poética
ao pensar sobre vinhos.
Observamos, nesses versos, o eu poético poeta refletindo meta-
foricamente sobre o seu ofício. E ao fazê-lo, explicita qual é o conti-
nente e também o conteúdo de sua poesia: o conteúdo é o “vinho da
emoção”, e o continente são as “taças de palavra e papel”, ou seja,
os poemas. Essa metáfora apresenta a poesia como domínio alvo e a
bebida como domínio fonte, sendo que o poeta conceptualiza a sua
poesia como bebida, uma bebida que tem o sabor da emoção. É o
verbo “derramar” que desencadeia toda a expressividade da metáfo-
ra: assim como se derrama vinho em taças, derrama-se emoção em
palavras e papel.
Entre as propriedades da metáfora, apontadas por Lakoff e Tur-
ner e comentadas por Cançado (2002, p. 132) enfatizo aqui, para a
análise dos poemas astridianos, a propriedade da “sistematicidade”,
a qual preconiza que as metáforas que utilizamos encontram-se sis-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 33
tematizadas na cultura, enraizadas na nossa mente. Essa sistematici-
dade pode ser percebida na metáfora “A VIDA É UMA VIAGEM”, a
qual “invade a nossa maneira de falar sobre a vida”. Essa metáfora,
segundo Cançado, “estende-se para as etapas de uma viagem, possi-
bilitando-nos fazer comparações às passagens da vida. Por exemplo,
o nascimento é considerado a chegada, e a morte, a partida”. É essa
metáfora de base que licencia, na língua ordinária, expressões meta-
fóricas como “chegou ao mundo um novo bebê” (nasceu) e “o meu
pai já partiu deste mundo” (morreu).
Cançado (2002, p. 133) explica ainda que o que identifica a sis-
tematicidade da metáfora é o mapeamento que se faz entre os dois
conceitos relacionados e os seus respectivos domínios. Assim, se en-
tendemos que “a vida é uma viagem”, é porque aceitamos, por exem-
plo, que: “a pessoa que vive é um viajante; os objetivos de quem vive
são os seus pontos de chegada; os meios para alcançar seus objeti-
vos são as estradas; as dificuldades da vida são os impedimentos de
uma viagem; conselheiros são guias de uma viagem; progresso é a
distância percorrida; coisas que medem o seu progresso são marcas
da estrada; talentos e coisas materiais são provisões da viagem”; etc.
É a possibilidade desse mapeamento entre o alvo (a vida) e a
fonte (uma viagem), assentado na cultura, que licencia expressões
metafóricas usuais, como: “faz muito tempo que deixei a infância
para trás”; “ela ainda não chegou à terceira idade, mas já passou dos
trinta”; “nosso bebê chegará em setembro” (nascerá).
Todo esse arrazoado se mostra oportuno quando descobrimos
que a metáfora “a vida é uma viagem” encontra-se subjacente a gran-
de parte dos poemas de Astrid Cabral, licenciando um sem-número
de expressões metafóricas que ela utiliza, principalmente quando a
voz que fala nos textos é poeta.
2. Metapoesia: a perturbação da linguagem
É comum aos poetas refletirem sobre o seu próprio ofício. Afi-
nal, se a poesia tem uma força tão grande a ponto de arremessar
os leitores rumo ao devaneio, é porque antes disso já passou pela
produtiva fantasia do seu criador, como bem nos ensinou Aristóte-
les. O ser humano tem uma necessidade congênita de fantasiar as
suas experiências. E além da necessidade, o poeta tem uma extraor-
34 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
dinária capacidade de fantasiar. Talvez seja por isso que os poetas
dificilmente resistem à tentação da metalinguagem, o que se vê prin-
cipalmente a partir do século XX, depois que Jakobson estabeleceu
as chamadas “funções da linguagem” e nelas reservou um espaço
considerável para descrição da função metalinguística.
No artigo intitulado “Metáforas metalinguísticas de Euclides
da Cunha” (GUEDELHA, 2016), explicitei que foi Jakobson quem
primeiro discorreu com clareza sobre a função metalinguística da
linguagem, que traz a própria linguagem para o primeiro plano
da cena enunciativa. No ensaio intitulado “Linguística e poética”,
ele diferencia a “linguagem-objeto, que fala de objetos, e a meta-
linguagem, que fala da linguagem” (JAKOBSON, 2010, p. 162).
Assim ele estabeleceu a função metalinguística como aquela em
que a linguagem é empregada para falar de si mesma. Chalhub
(2002, p. 32), comentando o que disse Jakobson, observa que “a
função metalinguística centraliza-se no código: é código ‘falando’
sobre o código. É linguagem ‘falando’ de linguagem, é literatu-
ra sobre literatura, é palavra da palavra”. E acrescenta que uma
mensagem de nível metalinguístico “implica que a seleção operada
no código combine elementos que retornem ao próprio código”
(CHALHUB, 2002, p. 49).
Assim sendo, a linguagem encontra-se em função metalinguísti-
ca quando discorre sobre ela própria. Nesse caso, a própria lingua-
gem é posta em questão. O autor lança mão da língua para trans-
mitir suas reflexões sobre a própria língua. Em outras palavras, a
própria linguagem é questionada e posta em destaque. E o emprego
da função metalinguística na literatura põe em evidência a própria
criação artística. Pela ferramenta da metalinguagem, o autor apre-
senta-se ao interlocutor ou leitor ao mesmo tempo como criador
e como crítico de sua obra. O artista mostra-se como construtor e
usuário de uma linguagem.
Quanto a essa questão, vale a pena recorrer a Roland Barthes
(1970), que vê na literatura um duplo movimento de sentido, tendo
em vista que ela fala do mundo e fala de si mesma, ao mesmo tem-
po, e dessa forma torna-se literatura-objeto (ou linguagem-objeto,
aquela que se estuda) e metaliteratura (ou metalinguagem, aquela
com que se estuda, linguagem instrumental). A metalinguagem, de
caráter crítico-analítico, possibilita estudar a linguagem-objeto sem
com ela se confundir. Por esse viés, a metalinguagem na literatura é
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 35
capaz de despertar no leitor a consciência do fazer artístico (proces-
so) que redunda na obra de arte (produto).
Sob o guarda-chuva da metalinguagem abriga-se a metapoesia,
que ocorre quando a poesia põe-se a si mesma em cheque, refletin-
do sobre o “ser” da poesia e também sobre o “ser” do poeta. E como
o poeta é um ser narcísico por natureza, resulta que a metapoesia
acaba se transformando em um dos grandes motores do fazer po-
ético. No momento mesmo em que exercita um olhar sobre o seu
ofício, o poeta está mirando a sua própria imagem nas águas da
poesia, que ora são cristalinas ora são turvas e turbulentas.
Silva identifica as raízes da metapoesia no século XIX, no que
ele chama de “reviravolta da lírica ocidental”. Segundo ele, a partir
desse momento
a poesia abandona a homogeneidade vinda desde os gregos, que
a estabelecia como uma voz centrada na confessionalidade dos
sentimentos amorosos ou relativos à natureza, à vida ou à morte.
Baudelaire, Rimbaud, e Mallarmé prefiguram os limites a que a
poesia poderia chegar e subvertem os valores, perturbando a lin-
guagem e reelaborando os conceitos estéticos, desligando assim
os liames com a tradição antiga. Essa nova lírica ‘obscura’ fasci-
na na mesma medida em que desconcerta o leitor, gerando uma
dissonância, uma tensão que leva à inquietude. (2011, p. 15)
Continuando em seu raciocínio a respeito do tema, Silva (2011)
explicita que, em consequência dessa inversão de valores, a poesia
passa a se centralizar em si mesma, e se estabelece como veículo de
um outro tipo confessionalidade: a confessionalidade de si mesma,
e não mais a confessionalidade de outra coisa, o que significa dizer
que ela, a poesia, passa a advogar a sua autossuficiência, deixando
de ser apenas apêndice de outros saberes. Ela toma consciência de
si mesma, de sua existência concreta e de sua autonomia. E não se
envergonha de expor suas “entranhas”, muitas vezes até de forma
despudorada. A atitude metapoética se revela, então, como
uma tentativa de conhecimento e revelação do próprio ser
poético. Assim, a Teoria da Poesia deixa de ser acessório e passa
a se incluir no texto do próprio poeta, originando um híbrido
entre crítica/teoria e manifesto. Essa concepção metapoética se
contrapõe à tradição sentimental-expresssiva, desconstruindo a
36 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
obra como produto inatingível ou insondável e reconfigurando-a
como um processo que se dá entre o leitor e o autor, não mais
ligados por uma mitologia ou sentimento generalizado, mas sim
pela perturbação da palavra poética. Essa poesia sobre poesia é
um núcleo temático basilar na poética moderna e pós-moderna,
sendo um veio comum, ou um parâmetro estético da literatura
contemporânea (SILVA, 2011, p. 15).
Esse arrazoado me leva a crer que não é sem razão que a poe-
ta Astrid Cabral tenha produzido insistentemente poemas cujo eu-
-lírico seja um poeta, que, a partir dessa condição, discursa metafo-
ricamente sobre si mesmo e sobre o seu ofício, em atitude narcísica.
3. Metáforas metalinguísticas do poeta
Exploro neste tópico duas metáforas metalinguísticas astridia-
nas: poetas são viajantes e poemas são filhos de papel.
3.1. Poetas são viajantes
Em “Poetas vão pela sombra”, do livro Ponto de cruz (1979, p.
25), o poeta é metaforizado como um viajante. Astrid Cabral atuali-
za, nesse texto, a metáfora A VIDA É UMA VIAGEM, especializan-
do-a ainda mais, ao apontar o poeta como um viajante.
Mas a vida-viagem do poeta transcorre de forma um tanto di-
ferente do que ocorre com a maioria das pessoas: os poetas viajam
por um caminho sombrio:
Poetas vão pela sombra
roçando o rosto das trevas
presos à cegueira extrema
em noites de horas imensas.
Além disso, a vida-viagem dos poetas é clandestina:
Poetas vão clandestinos.
No peito estrela escondida
os guia por labirintos
matas e mares infindos.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 37
E mais: a vida-viagem dos poetas é sempre uma rota de fuga
perigosa:
Poetas sutis se esgueiram
pelo oco de abismo e frestas
calando coisas sabidas
gritando visões inéditas.
Ao longo de sua vida-viagem, o poeta se revela um instaurador
de mundos:
E com a magia das mãos
mais tijolos de palavras
constroem estranho universo
povoado de galáxias.
(CABRAL, 1979, p. 25)
Se fizermos um mapeamento dessa metáfora do poeta como via-
jante, com base nas estrofes do poema acima, em diálogo com Cança-
do (2012), teremos que: sua viagem se realiza sempre numa atmosfe-
ra de sombras, guiado por uma estrela clandestina; sua viagem segue
sempre na contramão do mundo, mas das trevas por onde anda ele
lança luzes que iluminam o mundo; e ao caminhar, o poeta vai cons-
truindo mundos paralelos para sua rota de fuga e também para a
rota de fuga de outros que desejem se aventurar por esses caminhos.
A estrela escondida, clandestina, que guia o poeta é a própria
poesia. A poesia é o seu cicerone, como atesta o poema “A poesia
me pede a mão”, de Palavra na berlinda:
A poesia me pede a mão
sussurrando ao pé do ouvido:
pega caneta e folha. Tira
a roupa que te atrapalha.
Joga fora a máscara diária.
Vamos ao recôndito reino
lá pelas ínvias estradas
do soterrado labirinto
onde ardem tuas fogueiras
e tristes se amoitam sombras.
Liberta, vem desbravar
matas afundar em rios
38 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
penetrar grutas e estrelas.
Depois contempla o papel:
lá estarão em palavras
teus infernos e teus céus.
(CABRAL, 2011a, p. 15)
Como se vê, é a poesia que toma o poeta pela mão e o leva pela
estrada de sombras, por regiões reclusas, não sem antes ensiná-lo
como se preparar para a viagem: o ritual básico de preparo consiste
em um desnudamento do poeta, inclusive da máscara diária que
costumamos utilizar em nossas relações. É necessário que ela seja
jogada fora, pois no reino recôndito da poesia ela não tem a menor
serventia. Aliás, ela só atrapalha a viagem. As únicas matérias essen-
ciais ali são a caneta e o papel. Em uma palavra, a linguagem. Mas
a poesia é suave, ela não ordena, não grita, não faz alardes. Ela con-
vida o poeta, ela o seduz, sussurrando o convite ao seu ouvido. As
muitas viagens pelas ínvias e labirínticas estradas que conduzem ao
recôndito reino da poesia resultam nos poemas que ficam gravados
no papel, as experiências que são fantasiadas.
Tudo isso só é possível por causa das palavras, a “necessidade
prima” do poeta. São elas que iluminam os passos do poeta nas es-
tradas sombrias:
[...]
Só a palavra
levanta pontes
de homem a homem.
Só a palavra
clareia a estrada
por onde vamos.
(CABRAL, 2011a, p. 36)
Como observamos nessas estrofes, são as palavras que esten-
dem as pontes entre o poeta e o mundo. E elas, as palavras, são o
“farol de Alexandria” para o poeta, iluminando seu caminhar pelas
trevas do mundo.
O poeta é criador de mundos, mas ao criá-los vê-se obrigado a
transitar pelos “reinos de areias movediças” que são as palavras abs-
tratas, necessárias para a abstração das coisas do mundo:
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 39
Palavras abstratas, sois
reinos de movediças areias
e andarilhas dunas, domínios
de móveis fronteiras por onde
pobres terrestres tão pedestres
nos perdemos em voos amplos
por alçados alpes e andes
ou em fundas pescas trans-
atlânticas, pacíficas, índicas.
Palavras abstratas, sois
altas revoadas de águias
hostis a exíguas gaiolas,
qual peixes vivos escorregais
rumo a vossos infindos destinos
mar alto, mar fundo, mar afora
longínquas de nossas mãos
inábeis e pequenas, onde mal
cabe a esmola de uma escama
ou de uma pena.
(CABRAL, 2011a, p. 39)
O poeta, embora íntimo das palavras e dependente delas, não
raro fica confuso com os desvios de rota das palavras abstratas, nos
seus rompantes de verticalidade: ora são os “voos amplos” ora são
as “fundas pescas”. Ora é o céu ora é o mar. Espaços longínquos
para quem é “pobre terrestre tão pedestre” e não tem “escama” ou
“pena”. Em linguagem popular, poderíamos dizer que as palavras
abstratas arrastam o poeta para cima e para baixo ao seu bel prazer.
Se, por um lado, as palavras são necessárias, por outro elas têm
os seus caprichos. Mas esses caprichos são o cimento da fantasia,
porque continuamente o poeta tem que fazer desvios de rota pelos
abismos e pelos infinitos em busca da poesia.
Palavra na berlinda
Passas em brancas nuvens
num mundo cores berrantes.
Cantas em doce surdina
na usina de alto-falantes.
Tímido vais pela sombra
à distância das ribaltas.
40 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Cabeça dentro da vida
corpo rastejando em orlas
segues um tanto sem jeito.
Mas em segredo carregas
um vulcão vivo no peito.
(CABRAL, 2011a, p. 24)
3.2. Poemas são filhos de papel
Poemas são filhos de papel. Essa é outra metáfora metalinguís-
tica do eu poético astridiano. Ela está presente, por exemplo, no
poema que segue:
O poema, esse fruto
que não nasce em árvore,
carece de mão e mente
para que possa nascer.
De longínqua margem
nos acena e seduz
Assíduo pulsando
Até a urgência do parto.
Demorado ou breve
Será o trabalho
De apartá-lo das trevas
e em berço papel deitá-lo
quando finda aflição
ao grito da vitória
surja a nova criatura.
(CABRAL, 2011a, p. 17)
O eu poético usa termos relativos ao domínio fonte da fecun-
dação para dar conta da realidade do poema. Parece certo que
Astrid dialoga, aqui, com o princípio da “maiêutica”, estabelecido
por Sócrates no século IV a.C. O filósofo ateniense engendrou
uma interessante associação do conhecimento com o fenômeno
humano do parto, e a partir daí metaforizou a busca do conheci-
mento e da verdade como um parto, qual seja o “parto das ideias”,
que é o significado grego para a palavra “maiêutica” (CHAUÍ,
1995; COTRIM, 1997).
Observando atentamente a profissão de sua mãe como partei-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 41
ra, Sócrates deduziu que ocorre com o conhecimento um proces-
so semelhante ao que ocorre com o parto: primeiramente, vêm
as “dores do parto”, quando o indivíduo põe em xeque o seu
próprio conhecimento sobre alguma coisa e se põe a perguntar;
depois dessa fase de incertezas e questionamentos, ocorre o nas-
cimento de uma nova ideia, um novo ponto de vista a respeito
do assunto. Baseado nessa analogia, Sócrates passou a utilizar o
termo “maiêutica” para se referir ao “parto das ideias”, ou seja, o
nascimento de ideias complexas a partir de questões simples. A
maiêutica, então, é um processo de reconstrução de um conceito,
em que o indivíduo vai revisando e reelaborando suas noções até
chegar ao conceito verdadeiro por aproximações (CHAUÍ, 1995;
COTRIM, 1997).
O método da maiêutica consiste em perguntar, questionar o que
se sabe, com vistas a saber mais. Os questionamentos, muitas vezes,
acabam por convencer o indivíduo da esterilidade de suas reflexões,
levando-o a admitir seu equívoco. E dessa descoberta vem à luz uma
nova vida (ideia). Sócrates via esse processo como uma engenhosa
obstetrícia do espírito, que facilitava a parturição das ideias. A ver-
dade é algo que é parido, num parto intelectual. Mas o trabalho
de continuar perguntando e continuar encontrando dificuldades,
em busca de novas descobertas, na decifração de novos mistérios,
é um processo que não cessa nunca (ARANHA; MARTINS, 1992;
CHAUÍ, 1995; COTRIM, 1997).
Esse parece ser o caso de Astrid em seus poemas-filhos, nas-
cidos do seu espírito: eles vieram à luz num doloroso processo
de evolução de ideias. Só que na maiêutica socrática o filósofo
perguntante agia à maneira de parteiro, auxiliando o parto das
ideias no outro. Mas no caso de Astrid, estamos diante de um
processo de “autoparto”, em que o poeta atua como “parteiro de
si mesmo”.
O poema é um “fruto que não nasce em árvore”, é uma consta-
tação. Mais que isso, é uma certeza. Para nascer, o poema precisa ser
cultivado, pela mão e pela mente, o seu “útero”. Ali ele se encontra
vivo, pulsando. O poeta-parteiro, chegada a hora do parto, precisa
“apartá-lo das trevas” e “em berço de papel deitá-lo”, dando à luz,
assim, uma nova criatura-poema.
O poema “Parto”, já a partir do próprio título, dá continuidade
à metáfora do poema como filho:
42 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
O poema cresce
silente e sutil
resguardado em ventre
feito ser de carne.
Palpita discreto
na soturna entranha
de sonho ou vigília
o feto em enigma.
Até que maduro
lá do escuro aflora.
Mas sem reduzir
o mistério à luz.
(CABRAL, 2011a, p. 18)
O texto apresenta algumas propriedades desse ser de palavras,
que se assemelha a um ser de carne: ele cresce em ambiente de silên-
cio, discreto, o feto feito de enigmas. Quando atinge a maturação,
aflora do escuro e vem à luz, trazendo ainda consigo sua natureza de
mistério urdida em entranhas de sonhos e de vigílias.
O poeta tem uma certeza: quando o poema vem à luz, ele já passou
previamente por um estágio de humanidade em nossa própria carne:
As palavras se contaminam
de cada um de nós.
Bebem nosso único sangue.
Engravidam das vivências
de específicos destinos.
Quando alçadas em abstrações
prévias estagiaram no cerne
de nossa própria carne.
Por isso descaminhos se traçam
e se cavam abismos e abismos
entre bocas e ouvidos.”
(CABRAL, 2011a, p. 13)
Vê-se que o nascituro origina-se de um parto doloroso, e, sendo
as palavras que lhe dão forma “sangue do nosso sangue”, seguem
para sempre contaminadas de cada um de nós. A poesia contém o
DNA humano.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 43
4. Antíteses metalinguísticas do poeta
A antítese é uma figura de linguagem vizinha da metáfora, que
possibilita que ideias opostas sejam organizadas próxima uma da
outra com o fim de, por meio da contradição, realçar uma deter-
minada “verdade”. É comum, nos textos de Astrid, encontrarmos
o poeta envolto em antíteses quando reflete sobre si e sobre a sua
arte. E essas antíteses aparecem sempre vinculadas a um processo de
metaforização. Neste tópico, destaco duas dessas antíteses: torre de
marfim x pé no chão, e o pão x a palavra.
4.1. Torre de marfim x pé no chão
No poema “Não jogueis pedra”, a metáfora da “torre de mar-
fim” surge como uma rota de fuga de um mundo inóspito. É a torre
do poeta, que foi muito prestigiada por poetas simbolistas, no final
do século XIX, embora a expressão carregasse uma conotação pe-
jorativa para os que se opunham à arte de inspiração simbolista. A
torre de marfim representava o afastamento do mundo cotidiano,
com suas banalidades e brutalidades. Afastados do mundo, os po-
etas podiam imergir em um universo intelectual, filosófico, onde a
arte ocupava o primeiro plano, sem as perturbações do mundo em-
pírico. Com a instauração do Modernismo, no século XX, as críticas
à torre de marfim acentuaram-se. No poema astridiano, o poeta cri-
tica essa crítica, ressignificando a torre de marfim como um estágio
necessário a muitos poetas:
Não jogueis pedra
na torre de marfim.
Convém breve refúgio
a salvo de guerras
dúvidas e dívidas
vinhotos e ódios.
Não jogueis pedra
na torre de marfim.
Dela se desce de escudo
temperado e alma lavada.
Não jogueis pedra
na torre de marfim.
Convém conhecê-la
44 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
esse estágio nas nuvens
e convívio de estrelas.
(Cabral, 1986, p. 54)
Há poetas que necessitam desse “estágio nas nuvens” e desse
“convívio de estrelas” que a torre de marfim possibilita. O poeta
sobe à sua torre e, ao descer, vem mais preparado para as lides do
mundo. Por isso, numa atitude solidária, esse eu poético apela para
que não se joguem pedras. “Não jogueis pedra” é uma metáfora de
rejeição à crítica que costumeiramente se faz à poesia ascética, me-
tafísica. É uma atitude solidária, de empatia, porque, em que pese
defender a torre de marfim, esse eu poético não a cultiva, apenas a
respeita, como vemos no poema que segue:
Ó alados poetas
ínclitos inquilinos
de estratosferas,
perdoai-me os poemas
com gosto de barro
perdoai-me o pé na terra.
Acontece que
o que me apetece
é o pássaro na mão.
Acontece que
o que me estremece
é mesmo o chão
endereço certo
de qualquer ilusão.
(CABRAL, 2011a, p. 23)
O título desse poema, “Pé no chão”, oferece a outra ponta da
antítese, encabeçada pela “torre de marfim”. O eu poético defende
o direito à torre de marfim, mas desculpa-se pelo fato de sua poesia
ter uma outra face, um outro gosto.
4.2. Entre o pão e a palavra
No poema “Perfil”, de Lição de Alice, temos uma mulher que
assim se define:
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 45
Dona de casa
dona de nada
escrava de lavras
à terra amarrada.
Mãe de família
mãe de alegrias
entre lutos e sustos.
Jaqueira imensa
cheia de frutos
Poeta nas horas vagas?
Poeta nas horas plenas
embora raras...
O mais, não vale a pena.
(CABRAL, 1986, p. 67)
Essa mulher se apresenta como alguém que se divide entre
dois ofícios que lhe são caros: um ligado à concretude e à dureza
das lides domésticas, e outro relacionado à oficina poética. Quan-
to ao primeiro ofício, temos a antítese que define o ser “dona de
casa” como ser “dona de nada”, por não passar de “escrava” de sua
própria condição, de ser uma “jaqueira imensa / cheia de frutos”.
Quanto ao segundo ofício, o de ser poeta, que é exercido apenas nas
raras horas vagas da correria do dia a dia, faz com que essas horas
vagas sejam exatamente as horas plenas da vida, porque a poesia
redime o cotidiano de sua mesmice torturante.
Astrid costuma explorar em sua poesia essa antítese entre as li-
des do pão e da palavra. É o que ela faz, por exemplo, na dedicatória
do livro Intramuros, onde diz textualmente:
Àquelas companheiras
que põem a mão na massa
do pão e da palavra.
(CABRAL, 2011b, p. 5)
Ela chama de companheiras a essas mulheres, que, à sua seme-
lhança, não abdicam do ofício da palavra para dar conta do ofício
do pão. Ou, adaptando Orígenes Lessa a uma versão feminina, tran-
sitar entre o feijão e o sonho. Companheiras são as artífices do pão,
mas há o pão que alimenta o corpo e o que alimenta o espírito, cuja
massa é a palavra.
46 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Em Intramuros, a mulher transita entre o pão e a palavra, e os
elementos das lides domésticas adquirem encantamento... A mulher,
libertando-se dos muros que a cercam cotidianamente, multiplica-se,
em feras indomáveis, por meio da poesia, gozando até a exaustão a
liberdade conquistada. Vemos isso no poema “Divisão”:
Lavo panos e panelas
o olhar buscando estrelas.
Quero a água
que não vem da torneira.
Quero o fogo
que não vem do fogão.
(CABRAL, 2011b, p. 38)
Aí está expressa a antítese entre a realidade prática e o sonho,
o desejo. Há uma água que vem da torneira e um fogo que vem do
fogão. Mas há, por outro lado, uma outra água e um outro fogo,
que se situam muito mais próximos das estrelas do que dos panos e
panelas. E a condição da mulher faz com que ela subsista no imbri-
camento entre esses dois universos.
Mas muitas vezes se torna difícil conciliar o pão e a palavra,
como insinua o poema “Atraso de vida”:
Por causa da poesia
o feijão queima
o leite entorna
esquece-se o troco
vai a roupa do avesso
chora o bebê com fome
perde-se o trem.
Mas viaja-se.
Sabe-se lá para onde
que anônima nuvem.
(CABRAL, 2011b, p. 29)
Por isso, a “Inveja de Vishnu”:
Nunca me livrei
da inveja de Vishnu
seus múltiplos braços.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 47
Se eu fosse Vishnu, pensava,
não precisaria escolher
entre ninar o bebê
ou rabiscar o poema.
Sempre haveria mão tecendo
simultâneas
fios da vida e da palavra.
(CABRAL, 2011b, p. 28)
Invejando os múltiplos braços de Vihsnu, deus hindu, a mulher
lamenta não ter múltiplas mãos para dar conta, ao mesmo tempo,
das lides domésticas e das lides poéticas, sem ter que estar sempre
fazendo difíceis e angustiantes escolhas entre uma e outra. A an-
gustia é a impotência que está na base de sua condição humana e
feminina.
Considerações finais
É possível perceber que, nas metáforas metalinguísticas dos
poemas em que Astrid Cabral dá a palavra ao eu-poético poeta, o
que sobressai é a condição humana do poeta, e, mais que isso, sua
condição feminina. Na verdade, é uma poeta que fala nos textos
astridianos. Por meio dessa voz lírica, Astrid nos propicia o conheci-
mento e a reflexão sobre as constatações e angústias da mulher que
é poeta, sendo também “dona de casa” e “escrava de lavras”. Talvez
por isso as metáforas e antíteses que utiliza para falar sobre o seu
ofício de poeta tenham quase sempre o mundo doméstico como
contraponto. Nessas metáforas estão as taças e o vinho, além dos
flagrantes ligados à dor e à urgência do parto; nas antíteses, a torre
de marfim aparece conjugada ao chão em que pisamos, e as via-
gens da palavra não prescindem da necessidade pragmática do pão.
Circulando entre domínios-fontes e domínios-alvos, a poeta Astrid,
assim como a poeta de Astrid, derrama as luzes da metáfora sobre
as contingências de sua condição como poeta e como mulher, e as-
sim nos serve de cicerone pelas incursões que fazemos, expectantes,
por esses dois mundos, o da mulher e o da poeta, um fornecendo
matéria-prima para o outro. O que sobra de tudo é a constatação:
não temos como viver sem o pão, que alimenta o corpo; mas não
48 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
podemos, igualmente, viver sem a palavra, que alimenta o espírito
e nos faz humanos. É a metáfora que nos redime, lançando pontes
do cotidiano em direção ao desconhecido e nos salvando de sermos
escravos das obviedades a que estaríamos condenados sem a poesia.
Referências
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de
Filosofia. São Paulo: Moderna, 1992.
BARTHES, Roland. Crítica e Verdade. São Paulo: Perspectiva, 1970.
Cabral, Astrid. Palavra na berlinda. Rio de Janeiro: Ibis Libris, 2011a.
________. Intramuros. Manaus: Valer, 2011b.
________. Lição de Alice. Rio de Janeiro: Philobiblion, 1986.
________. Torna-viagem. Recife: Edições Pirata, 1981.
________. Ponto de cruz. Rio de Janeiro: Cátedra, 1979.
CANÇADO, Márcia. Manual de semântica. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2002.
CHALHUB, Samira. A Metalinguagem. São Paulo: Ática, 2002.
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1995.
COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia - Ser, Saber e Fazer. São Paulo: Saraiva,
1997.
LAKOFF, George & JOHNSON, Mark. Metáforas da vida cotidiana [Coordenação
de tradução Mara Sophia Zanotto]. Campinas, SP: Mercado das Letras; São Paulo:
WDUC, 2002 (Coleção As Faces da Linguística Aplicada
GUEDELHA, Carlos Antônio Magalhães. Metáforas metalinguísticas de Euclides da
Cunha. Santa Cruz do Sul: Revista Signo, vol. 41, nº 70, ano 2016.
JAKOBSON, Roman. Linguística e comunicação. 22. ed. Trad. Izidoro Bliksteine
Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 2010.
SILVA, Wellington Brandão da. Inclinações da metapoesia de Manoel de Barros. Brasília:
UNB, 2011 (Dissertação de mestrado).
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 49
A cartografia do tempo:
forma colecionadora e traços do canto
em Frauta de barro, de Luiz Bacellar1
Fadul Moura
Naquele Império, a Arte da Cartografia logrou tal perfeição
que o mapa de uma única Província ocupava toda uma Cidade,
e o mapa do Império, toda uma Província. Com o tempo, esses
Mapas Desmedidos não satisfizeram e os Colégios de Cartógrafos
levantaram um Mapa do Império, que tinha o tamanho do
Império e coincidia pontualmente com ele. Menos Adictas ao
Estudo da Cartografia, as Gerações Seguintes entenderam que
esse dilatado Mapa era Inútil e não sem Impiedade o entregaram
às Inclemências do Sol e dos Invernos. Nos desertos do Oeste
perduram despedaçadas Ruínas do Mapa, habitadas por Animais e
por Mendigos; em todo o País não há outra relíquia das Disciplinas
Cartográficas. (Do rigor na ciência, de Jorge Luís Borges)
Cartografia: a bússola do tempo
L uiz Bacellar (1928-2012) é um poeta brasileiro nascido em Ma-
naus. Tem sua primeira obra, Frauta de barro, lançada em 1963,
após ter sido laureado com o Prêmio Olavo Bilac, em 1959, pela
Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro (à época, Distrito Federal).
Em 1973, publica Sol de feira, após o livro ter recebido o prêmio de
poesia, em 1968, do Governo do Estado do Amazonas. Em 1975,
lança Quatro movimentos: sonata em si bemol menor para quarteto de
sopros, o qual é publicado posteriormente com o título de Quatuor
(2006). 1985 é o ano em que faz uma parceria com Roberto Evan-
gelista para escrever um livro de haicais chamado Crisântemo de cem
pétalas. Esse será publicado isoladamente sob o título Pétalas do cri-
sântemo mais tarde. Anos depois da publicação de Frauta de barro,
sai uma série de poemas em uma edição de sua poesia reunida em
Quarteto (1998). Assinando com o pseudônimo de Katsüo Satsumà
50 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
também lança Borboletas de fogo (2004). Como última publicação em
seu nome verdadeiro, uma das sessões de Frauta de barro foi retira-
da, a fim de ser publicada sob o título de Satori (1999).
A proposta que aqui se lança tem o objetivo de cartografar o
desenvolvimento poético encontrado em Frauta de barro consideran-
do sua poética como uma forma de coleção por meio da memória.
Com isso, busca-se entrelaçar o livro a um conjunto artístico-cultu-
ral, previamente selecionado pelo autor, com o objetivo de afirmar
a diferença/autenticidade de sua obra-prima.
A epígrafe de Jorge Luis Borges ironiza a prática cartográfica
tradicional, pois demonstra que mesmo a cartografia exata das lo-
calizações desejadas exigiria – para ser precisa e real – um mapa que
fosse do tamanho da região mapeada. Não apenas por esse motivo,
mas, principalmente, por se trabalhar com paisagens não físicas, a
pesquisa se encaminha para o abandono da cartografia tradicional,
a fim de dar vazão ao aspecto delineador da realidade dinâmica dos
afetos, verdadeiros compositores de imagens/mundos.
O caminho metodológico proposto, que também se faz teórico
para a execução desta pesquisa, é aberto à luz do conceito cartográ-
fico de Suely Rolnik, o qual prevê uma diferença entre cartografia e
mapa. Enquanto o último vincula-se à representação de uma totali-
dade fechada, acabada, e, portanto, sem possibilidade de alteração
(devido à sua caracterização estática), a primeira afirma-se como
uma forma representacional distinta, pois “[...] acompanha e se faz
ao mesmo tempo que os movimentos de transformação da paisa-
gem. [...]” (2011, p. 23). Isso significa que, em oposição ao mapa, a
cartografia realiza-se como um desenho de um espaço, simultanea-
mente, em construção e desconstrução. A concomitância permite
que o delineamento aconteça na execução: 1) da prática da coleção
artística; e 2) da criação da paisagem psicossocial interna ao livro.
Logo, é intrínseca à cartografia a característica analítica de uma mu-
tabilidade capaz de elucidar “[...] o desmanchamento de certos mun-
dos – sua perda de sentido – e a formação de outros: mundos que se
criam para expressar afetos contemporâneos, em relação aos quais
os universos vigentes tornam-se obsoletos” (2011, p. 23).
Tendo isso em mente, a cartografia estará voltada para o esboço
do desenvolvimento dos afetos que modulam as imagens propul-
soras em/de memórias. Isso acontece pela proximidade proposta
pela autora entre desejo e afeto2, uma vez que desejo é “processo
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 51
de produção de universos psicossociais” (ROLNIK, 2011, p. 31), os
quais geram no outro, afetado, sensações que lhe trarão imagens/
percepções particulares.
No livro de Bacellar, há, de um lado, o trabalho de (re)escri-
tura poética, cuja dimensão é necessário perscrutar, analisando
suas referências e a forma como elas são operacionalizadas na ela-
boração do que se compreende como coleção do Poeta;3 de ou-
tro, o paradoxo entre memória e realidade, uma vez que ambas
são atravessadas pelos espaços por onde vazam traços culturais,
visualizáveis à medida que se realiza a conjuntura da ruína. Nesse
segundo momento entra em jogo o reconhecimento do Eu lírico
sobre a transformação do espaço conhecido: é por meio do reco-
nhecimento que sucede a abertura de consciência em que há a
identificação e afetação com o que está diante dele, apreendendo
a matéria figurada uma segunda vez.
À luz da leitura de Paul Ricœur (2008), depreende-se que o
reconhecido no presente tenha sobrevivido e persistido do passado
até o agora, assim sendo reavivado. Em alguns poemas sobre
Manaus ocorre um choque simultâneo ao processo, pois o Poeta
sente dor à medida que tem seu desejo mobilizado pela memória.
A ruína surge como uma paisagem a ser experimentada: no que
tange aos tempos vividos, ocorrem aproximação e distanciamento
simultâneos no plano de decorrência da ação. Dessa forma, destaca-
se que Bacellar elabora um Eu lírico capaz de cerzir a sua escritura
da memória poético-cultural, conforme instrumentaliza e converge
para seu texto – como um catalizador – as referências de leituras
de nomes da literatura brasileira e estrangeira. Isso quer dizer que,
extrínseco ao texto, há uma experiência de leitura do próprio Luiz
Bacellar expressa no livro por epígrafes, alusões e intertextos. Essa
experiência é concentrada na linguagem e aparece não só pelos
paratextos, mas também pelos passos seguidos pelo Poeta-narrador.
A personagem lírico-épica avança em sua viagem igualmente pelo
campo simbólico, ao passo que emerge do invisível da memória. As
suas lembranças (virtualizações) retornam como matéria de criação
(intrínseca ao texto). Nesse sentido, o Poeta equivale à própria
poesia, e suas experiências denotam formas de acesso aos afetos em
relação ao mundo poético que se projeta para o futuro.
É por esse motivo que a impossibilidade de uma imagem está-
tica, exata e total confirma-se no tratamento das memórias encon-
52 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
tradas no livro: os conteúdos dos poemas apresentam flashes de ima-
gens em que se concentram ressignificações das lembranças (da lite-
ratura lida, num plano, e do tempo vivido, noutro), o que determina
uma análise detida aos momentos em que o Eu lírico evoca suas
memórias enquanto é sensibilizado pelo que compõe a paisagem.
Como exemplo do primeiro caminho a ser traçado, faz-se menção
à sessão intitulada “Três noturnos municipais”, um dos momentos-
-chave do livro, em que a paisagem se conjuga com o Eu lírico. A re-
cuperação de uma memória poética, em caminho paralelo, permite
a consagração do autor, quando ele aproxima o seu Poeta da expe-
riência vivida por outros poemas de seus autores prediletos, como é
o caso de “Soneto para Charles Chaplin”. Esses exemplos compõem
partes diferentes do livro, e o seu uso neste momento busca ilustrar
as duas linhas a serem seguidas nesta pesquisa.
Cabe, agora, direcionar o olhar para o norte que a bússola apon-
ta: com base na proposta cartográfica dinâmica, considera-se o tex-
to de Luiz Bacellar passível da análise delineadora de uma Manaus
antiga que se desdobra em outra, a qual é revestida ora pelo humor
da sensibilidade infantil, ora pela perspectiva de um velho voltado
à dor, que se desencadeia pelo choque entre o passado e o presen-
te. Ter em mente essas duas atitudes temporais é necessário para
a compreensão das perspectivas que revelam o(s) espaço(s) dentro
do livro. Dessa forma, no plano da ação, a possibilidade de fazer o
espaço plural diz respeito à investidura da máscara infantil, respon-
sável por engendrar um território afetivo, em relação antípoda à
face envelhecida, que se abre ao efeito de desterritorialização que
o Poeta conhece. Assim, a imagem do homem envelhecido vela a
presença da criança, ao passo que o contrário também acontece.
Num sentido sincrônico, a imagem da criança demonstra os jogos
e efeitos estéticos constantes nos poemas do livro, enquanto, num
sentido diacrônico, a velhice sempre paira, a devorar o deslumbra-
mento para com o mundo imaginado.
Destaca-se, novamente, que para Rolnik a concepção de desejo
consiste no movimento dos afetos, assim como na transformação
deles nas máscaras que são geradas no encontro de corpos vibráteis
que se encantam e se desencantam: o encantamento erige mundos
possíveis; o desencantamento, porém, aniquila esses mundos, dei-
xando aberta a possibilidade de que novamente o processo conti-
nue a se efetuar. O acompanhamento dessa construção – seguida
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 53
da desconstrução – permite a cartografia dos rastros de territórios
inteligíveis, desenhados no espírito do Poeta que deambula e opera
as intensidades afetivas de sujeito poético; que caminha pelas ruas
“reais”, as quais contrastam com as mnemônicas – respectivamen-
te num primeiro e num segundo plano de execução da ação. Se
for levado em consideração que o choque com a lembrança é uma
base temática da poesia bacellariana, estar-se-á diante de uma crise
do Poeta, na qual ele terá suas presenças (da velhice e da infância)
em estágios afetivos diferentes. Logo, será possível cartografar as
subjetividades que a memória do Poeta está por construir em suas
matérias poetizadas em paradoxo.
Entendendo que a construção da imagem é procedente de uma
tomada de consciência, como propõe Daniel-Henri Pageaux (2004),
abstrai-se que a memória reenvia valores sensíveis para o momento
da enunciação do poema, conferindo à voz lírica o tom doloroso,
cujo caráter é fundamental para o significado do sofrimento, con-
vertido em ruína, posto que “[...] a imagem é representação, mistura
de sentimentos e de ideias de que é importante captar as ressonân-
cias afectivas e ideológicas. [...]” (PAGEAUX, 2004, p. 137). Eluci-
dando o proposto: em sua realização, a imagem poética é uma forma
vibrátil, na qual os valores do real são conjugados e transmitidos
por traços, nuances de cor e oscilações dos tons visualizáveis nos
poemas. Tais valores sensíveis, que por ela são liberados, devem ser
capturados pelo pesquisador e decodificados em forma cartográfica
do imaginário social de cada cultura. À esteira de Rolnik, a carto-
grafia sentimental que aqui se lança é uma cartografia de uma sen-
sibilidade, que se apresenta em forma de emoção, isto é, na forma
de afetos (subjetivação) do Poeta para com os objetos encontrados
e para com o espaço urbano de Manaus, convergindo-os, concomi-
tantemente, em reflexo sensível e representável na imagem que se
deseja cartografar: a das paisagens.
Compreendendo, assim, Frauta de barro, é possível considerar
que a obra apresenta a reconfiguração do real em forma de destrui-
ção, o que é evidenciado pelo próprio tempo presente em contraste
com o tempo passado. À luz dessas considerações: entre a reconsti-
tuição e o apagamento, a ruína é a síntese que atualiza a paisagem
de Manaus. O Poeta confere à cidade o caráter ambíguo, à medida
que desvela a sensação presente de um tempo anterior que simbo-
licamente decanta. A poesia estabelece um laço entre tempos, cons-
54 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
truindo o lugar da ruína, em que objetos, cidade e memória flutuam
e inscrevem-se em única forma de representação.
Verifica-se que as atitudes do Poeta retratam um quiasmo4 na
construção da imagem arruinada, pois a poesia “[...] proporciona à
memória um modo formular, pelo verso e pela rima, de conserva-
ção e transmissão do que modernamente chamaríamos a experiên-
cia, que através de mecanismos sofisticados de repetição e variação
confere uma forma – uma moldura – à matéria mnésica, fixando-a
e configurando-a. [...]” (VECCHI, 2010, p. 320). Dizendo de outro
modo: a experiência do real converte-se em experiência poética. Os
poemas abrem-se para o leitor, o qual visualiza como a mobilidade
dos afetos do Poeta provoca a recuperação do momento passado,
fazendo-se presente num cruzamento de planos temporais emersos
do âmbito poético.
Dessa maneira, ainda segundo Roberto Vecchi, “[a] poesia, [...]
desde seus inícios surgiria como uma forma mnemônica especiali-
zada que, combinando som e imagem, retém ou procura conter a
dispersão e a perda do que de outro modo se dissolveria por inteiro.
[...]” (VECCHI, 2010, p. 320), recuperando, através da experiência
estética, as representações do corpo, dos objetos e da cidade, que
afetam o Poeta-personagem do início ao fim da obra, lançando o
contraste e o cruzamento da realidade que se faz presente pela lem-
brança, acionada no contato com o atual estado de ruína do próprio
Poeta, envelhecido.
Recapitulando: a arte é capaz de produzir uma série de sen-
sações, as quais vêm afetar aqueles que a contemplam, fazendo
com que os afetos daqueles que se sensibilizaram transbordem
diante dela. Assim, na obra artística há não apenas uma função
de conservação da cultura, mas também a atualização do evento
que ela quer trazer para o “contínuo” momento presente de sua
apresentação.
As considerações que até aqui foram feitas apontam para uma
cartografia dos elementos que compõem a paisagem da memória
bacellariana, além de pôr em evidência que este estudo não diz res-
peito ao mapeamento de uma realidade física, mas, sim, à tessitura
poética que o livro encerra. Ainda é necessário, todavia, esclarecer
algumas considerações sobre outro item constante no título deste
trabalho, isto é, a coleção. Essa, por sua vez, acompanhará o dese-
nho que aqui se enceta, tendo em vista a divisão do livro em qua-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 55
tro instâncias afetivas. Trata-se da instância-território do corpo, da
instância-território dos objetos, da instância-território da cidade e
da instância-território das formas artísticas.
Cabe declarar que a última dessas instâncias se subdivide em
três: a da tradição temática, sobre a qual serão desenvolvidas ob-
servações de aspectos estéticos que não se centram em autor único,
mas expressões de um gênero ou de uma época; as marcas autorais,
em que serão pontuadas tópicas e estilos de autores, para os quais
Luiz Bacellar dedica diretamente alguns de seus poemas, ou, ainda,
dialoga com outros; e, por último, a instância-território de presen-
ças oblíquas, elaborada no momento em que Luiz Bacellar estabele-
ce eixos interartísticos, fazendo pontes entre o literário e o visual e
o literário e o musical.
Por uma escritura em saudação aos mestres
Uma vez expostos os critérios analíticos da cartografia e o ele-
mento cartografado, cabe explicar as categorias da coleção anali-
sada. Para tanto, o estudo direciona-se para novo movimento: o de
detalhamento da assimilação das estéticas de outros autores.
É necessário lembrar as ideias de T. S. Eliot como uma adver-
tência inicial para o trajeto que a partir daqui será percorrido. O
ensaísta lança o argumento de que o leitor deve se aproximar de um
poeta sem o preconceito que o afasta de seus antecessores, ou seja,
sem a busca de uma individualização que o dispa das referências
muitas vezes pelo poeta, ainda, saudadas. Em suas palavras: “[...]
se nos aproximarmos de um poeta sem esse preconceito, podere-
mos amiúde descobrir que não apenas o melhor mas também as
passagens mais individuais de sua obra podem ser aquelas em que
os poetas mortos, seus ancestrais, revelam mais vigorosamente sua
imortalidade. [...]” (ELIOT, 1989, p. 38). Esse olhar para o passado
permite pensar a literatura como um sistema entrelaçado não ape-
nas entre tempos distintos, mas também entre espaços simultâneos,
em que revigoram uma série de tópoi, à medida que eles são ditos
uma vez mais. A avaliação do tratamento dado a esses temas é feita
por meio da apreciação do poeta em relação aos poetas mortos, ou,
ainda, em relação àqueles que estão vivos e compartilham do mes-
mo tempo histórico.
56 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
A inserção da obra do novo poeta implica um alinhavo na or-
dem conhecida. Ainda conforme T. S. Eliot, “[...] para que a ordem
persista após a introdução da novidade, a totalidade da ordem exis-
tente deve ser [...] alterada: e desse modo as relações, proporções,
valores de cada obra de arte rumo ao todo são reajustados [...]”
(ELIOT, 1989, p. 39). Assim, antigo e novo terão pontos entrelaça-
dos harmoniosamente na costura desse tecido sistêmico. Isso não
quer dizer, porém, que, necessariamente, será dada a continuidade a
tudo o que já fora elaborado. A negação da continuidade também é
uma forma de dar prosseguimento ao sistema, dilatando-o e direcio-
nando-o para outro rumo. De todo modo, a observação consciente
do todo permitirá perceber que a negação não surgiu sempre isola-
damente. Em outros lugares de um mesmo tempo ou de um tempo
anterior, ela adquiriu força para introduzir-se. E mais uma vez houve
o reajuste no sistema literário.
O conjunto desses entrelaçamentos forma uma tradição poética
que vem sendo traduzida através das épocas. Pensar dessa maneira
é inclinar-se para a ideia posteriormente mencionada por Antoine
Compagnon, o qual, ao comentar a noção de tradução sobre a cate-
goria do leitor lançada por Proust, afirma que tanto escritura quanto
leitura convergem e coincidem para o mesmo processo: a tradução.
Enquanto a escritura é vista como “tradução de um livro interior”,
a leitura, por sua vez, é “uma nova tradução de outro livro inte-
rior” (COMPAGNON, 2010, p. 142). Ambos os processos tradutores
amalgamam-se no contato entre leitura e escritura. Eles se esvaecem
num horizonte de um ato criativo de reconhecimento, produção de
sentidos e avaliações, isto é, na interpretação. É dessa forma que um
novo texto poderá ser gerado, assim como um texto antigo poderá
ser recuperado em uma obra do presente e, ainda, atualizado e re-
conhecido por um novo leitor.
Esse tipo de tradução do escritor pressupõe a imersão da cons-
ciência daquele que escreve no sentido histórico de suas palavras. A
essa consciência é imprescindível um “[...] sentimento de que toda a
literatura europeia desde Homero e, nela incluída, toda a literatura
de seu próprio país têm uma existência simultânea e constituem
uma ordem simultânea. [...]” (ELIOT, 1989, p. 39). Dizendo de ou-
tro modo: ele carrega a mentalidade de seu tempo, mas isso não o
faz ser um produto isolado do presente. Pelo contrário, a escritura
revela o lastro cultural daquele que a engendra, dando a ela, com
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 57
base nesse lastro, a configuração coetânea. Essa passagem de um
modo ou tom para outro revela uma consciência do presente estrei-
ta à consciência do passado, logo, evidencia a modulação de um to-
pos coletivo contemporaneamente ressignificado na nova escritura.
Luiz Bacellar evidencia essa consciência em “Leituras e forma-
ção literária”, depoimento encontrado em Quarteto (1998). Nesse
texto, declara sua admiração por uma série de poetas (dentre eles,
Jorge de Lima é considerado por Bacellar o mais marcante sobre sua
obra). Bacellar menciona uma lista de autores (prosadores e, princi-
palmente, poetas) sem fazer distinção sobre aqueles que escrevem
em vernáculo. O autor vale-se das palavras de Bernardo Soares ao
dizer que sua pátria é a língua portuguesa e deixa porosa a fronteira
entre aqueles que possuem a mesma língua. Pela enumeração de pre-
dileções claras, o admirador reduz as distâncias entre as poéticas, na
medida em que amplia o caráter de sua poética com trechos, alusões
(a Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Casimiro de
Abreu, por exemplo),5 estendendo-se a dedicatórias a nomes como
Fernando Pessoa, Rainer Maria Rilke e João Cabral de Melo Neto.
Destarte, o poeta brasileiro concentra as obras de seus mestres na
própria escritura de Frauta de barro, no momento em que referenda –
seguindo também a concepção latina – aqueles que considera gran-
des autores. Essa atitude de imitação transforma-o em um emulador
estético-autoral-artístico, o qual modula a leitura de textos anteriores
para assimilá-la à maneira de dizer desses poetas-referência.
Na literatura latina, uma das principais obras que tratam da imi-
tação na cultura romana chama-se Tratado de imitação (século I a.C.),
de Dionísio de Halicarnasso, em que a noção de imitatio (tradução
latina da palavra grega mímesis) é encontrada para além da tradução
literal, adquirindo uma nova concepção. A imitatio, entre os latinos,
tinha o poder de refundar os modelos à medida que seguisse seus
princípios teóricos. Como título dessa categoria, estava a œmulatio,
considerada como esforço realizado para alcançar e/ou superar o
antigo modelo. O imitador não poderia apenas copiar as ações de
seu mestre, mas deveria saber fazer o que o mestre tinha de melhor
em sua produção. Nesse trabalho, a œmulatio guardava em si dois va-
lores. Trata-se de certas rivalidade e superação, as quais formavam
um misto de admiração e inveja.
A palavra grega denotadora da noção de inveja na tradução de
œmulatio é zélosis. Ela concentra as noções de cuidado ou proteção
58 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
ao ser traduzida, no português, por “zelo”; no francês, jalousie, e,
no espanhol, celo, por “ciúmes”. Isso difere da concepção de inveja
que se tem em vernáculo, vista de forma negativa (ao contrário da
latina, positiva). A palavra grega que carregava o sentido negativo
de inveja, na realidade, era phthónesis, utilizada de maneira diferen-
te da emulação latina. Sob esse aparato semântico esclarecido por
Saltarelli (2009), pode-se dizer que a œmulatio gesta um estímulo ao
respeito e à admiração tamanhos, a ponto de fazer o poeta imitador
rivalizar com seu anterior, no objetivo de ser equiparado ou obter
prestígio ainda maior. Apenas com o labor apurado da imitação da
técnica é que o imitador poderia ganhar respeito, à proporção que
fosse aperfeiçoando as diversas técnicas de produção. A essa ideia
acrescente-se também a destituição da carga negativa do plágio, pois
não se tratava disso. Ocorria, para Dionísio de Halicarnasso, uma
ação mimética que permitia aos poetas engrandecerem suas produ-
ções até alcançarem o patamar de um poeta almejado, transforman-
do-se, após o longo trajeto, em um novo mestre.
Ao lançar as bases para o procedimento de criação de sua Po-
ética, Aristóteles distancia-se da noção platônica de cópia, além de
evidenciar a representação mimética de uma realidade verossímil.
Primeiramente, concebe a imitação como atitude formuladora da
mímesis. Sob essa perspectiva, a mímesis era utilizada como critério
de distinção do humano, possuidor de uma capacidade de aprendi-
zado particular, e capturador das ações de outrem por meio daquilo
que via; e, por consequência, reproduzia essas ações. Ao imitador
cabe a possibilidade de reproduzir o real da forma que lhe aprouver,
pois a natureza alcançara o patamar de realidade independente, dis-
tanciada da idéa. Isso acontece porque a obra literária passa a resul-
tar da aprendizagem de suas regras associadas à livre expansão das
capacidades naturais, isto é, da operacionalização da technê sobre a
physis. Sendo deslocado o olhar para a práxis humana, a verossimi-
lhança permite ao poeta imitar outros poetas, posto que a atitude
do imitador se torna muito mais operacional e técnica, além de des-
tinada a outras formas artísticas consideradas exemplum. Conforme
Thiago Saltarelli,
[...] desde que alguns escritores foram consagrados pela tradi-
ção como exemplos de excelência artística e agrupados num câ-
none, tornaram-se paradigma para as gerações futuras, as quais
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 59
passaram a imitar tais modelos. Com isso, a mímesis ganhou
também o estatuto de imitação de escritores canônicos, cujos
gêneros, linguagem e estilo foram mimetizados por muitos artis-
tas. [...] (2009, p. 254).
Com o passar das épocas, o que se visualiza é que a atitude mo-
delar de imitação e superação dos anteriores permite a inserção de
novos modelos, assim como também a revalidação da noção de mí-
mesis de um autor sobre outro. Não se trata de apagamento na con-
cepção latina, mas da afirmação de si pelas leituras que possui. Os
poetas mais antigos vão gradativamente cedendo lugar aos poetas
mais modernos, o que não significa que aqueles sejam esquecidos;
entretanto, evidencia-se a possibilidade de um poeta moderno for-
mar o seu conjunto de autores-referência. Essa formação – longe de
ser unilateral – legitima a autoridade do leitor crítico como aquele
que seleciona nomes para construir o cânone, na esteira de Harold
Bloom (2001) e T.S. Eliot (1989), como também o reconhecimento
dos poetas que, àquela altura, foram elencados. Esse é o ponto em
que Luiz Bacellar se faz catalisador de loci similes de escritores, pin-
tores e músicos, os quais são trasladados em novas formas poéticas,
recriando suas particulares maneiras de escrever no ato inventivo
de erguer imagens, isto é, de dizer, pela escritura da memória, uma
Manaus antiga.
Nesse sentido, a ação da memória sobre as imagens de Manaus
pode ser assemelhada à ação da memória sobre a seleção de autores.
Para Harold Bloom, “[a] arte da memória, com seus antecedentes
teóricos e suas florações mágicas, é em grande parte uma questão
de lugares imaginários, ou de lugares reais transmutados em ima-
gens visuais. [...]” (2001, p. 45). Dessa maneira, o crítico continua
dissertando sobre o cânone literário ocidental como “um sistema de
memória”, cuja função é “[...] lembrar e ordenar as leituras de uma
vida. Os grandes autores tomam o lugar dos ‘lugares’ no teatro da
memória do Cânone, e suas obras-primas ocupam posição preen-
chida pelas ‘imagens’ na arte da memória. [...]” (p. 45). É assim que
a individualidade de um autor pode concorrer com as produções
ideológicas do presente, as quais também são exteriores às obras. A
originalidade supera as formas rígidas e abre espaço no seio do sis-
tema, quando se é inegável a presença de um novo autor. Machado
de Assis, por exemplo, não é reconhecido no primeiro momento de
60 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
sua produção; posteriormente, é consagrado um dos maiores auto-
res da Literatura Brasileira devido à observação aguda que faz do
seu momento histórico.
Conforme, mais uma vez, Harold Bloom:
[...] [o] valor estético é por definição engendrado por uma in-
teração entre artistas, um influenciamento que é sempre uma
interpretação. A liberdade de ser artista, ou crítico, surge neces-
sariamente do conflito social. Mas a fonte ou origem da liberda-
de de perceber, embora mal conte para o valor estético, não é
idêntica a ele; [...] (2001, p. 31).
É assim que se compreende a originalidade de Frauta de barro
enquanto uma obra que abarca outras obras do cânone de diver-
sos países: no modelar de suas estéticas consagradas, Frauta de barro
ultrapassa-as quando as reúne num único livro; mas não em favor
da depreciação de si ou do elemento local contido em seu texto. Ao
contrário, Bacellar eleva o espaço de Manaus, fazendo-o flutuar po-
eticamente como uma Buenos Aires, Dublin ou Lisboa, isto é, como
qualquer outro lugar do mundo. Onde equivocadamente poderia ser
vista uma cópia estética, o que se marca é a autenticidade da escrita.
Atrás das cortinas: cenário e encenação de reflexos
Ao continuar o projeto cartográfico, direciona-se a pesquisa
para o canto. Recuperam-se as palavras em Antiapresentação para
Frauta de Barro, texto encontrado na reunião Quarteto (1998), em
que Antônio Paulo Graça afirma que Luiz Bacellar possui um “ta-
lento épico”. Segundo a proposta do autor,
[h]á um evidente talento épico em Luiz Bacellar. É a comunida-
de que encontra sua expressão, sua linguagem, sua fala, através
de seus versos. Assim, Bacellar recria, fundando-a na história
dos tempos, a função do poeta. A memória que cimenta seus
poemas é ao mesmo tempo um culto ao passado e uma denúncia
contra a insanidade de um presente que se autoflagela, que se
autodestrói impunemente. (BACELLAR, 1998, p. 212)
Ao caracterizar Frauta de barro como um possível épico, as pa-
lavras de Paulo Graça corroboram minha forma de encarar a pre-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 61
sença da frauta como matéria originária. Além disso, fica clara a
noção fundadora que o objeto-brinquedo confere amplamente às
memórias no livro evocadas. Numa aproximação com Os lusíadas,
de Camões, verifica-se que Bacellar se utiliza da referência para fun-
dar a própria comunidade.
O que chama atenção é o fato de os versos de Camões não se-
rem os únicos manuseados antes do início do poema. Sobre a edição
de Frauta de barro publicada em 2011, é necessário destacar duas
observações: a primeira é a presença de um fragmento de A divina
comédia, de Dante Alighieri. Trata-se exatamente da trigésima sétima
estrofe, no “Canto XXXIV – Regresso à superfície da terra”, do In-
ferno6, momento em que Dante e Virgílio visualizam as três faces de
Lúcifer, na subida das personagens pelas rochas até a saída do nono
Círculo. Ela evoca a ideia da elevação progressiva de Dante, como
um elemento-chave a anunciar a presença épica, lançando a ideia da
viagem temporal que tangencia todo o livro.
Ao lado dessa epígrafe, ainda há outra: um fragmento de Travel
into several remote nations of the world, de Jonathan Swift. Esse longo
fragmento é encontrado na primeira edição, separando “O poeta
veste-se” de “10 sonetos de bolso”. Como uma importante informa-
ção sobre o que o leitor vai encontrar no livro de Bacellar, o deslo-
camento do meio do livro para o início, antes mesmo das duas cita-
ções, respectivamente de Dante Alighieri e Luís Vaz de Camões, já
lança a ideia da viagem – discussão inaugurada por Marcos Frederi-
co Krüger Aleixo (2011) –, e agora encarada como um cenário a ser
composto em planos ou camadas, também espaciais. Dessa forma, a
ideia da viagem prefigura e abarca um plano inicial, no qual está in-
serida a presença do épico classicista italiano, para que, dentro dele,
seja encontrada a referência épica em língua portuguesa com Os
lusíadas e, por fim, adentre-se no espaço remoto de Manaus – a con-
siderar a proposta de Swift. Essa trajetória pelas epígrafes remete a
um mise en abyme, desdobramento de narrativas que se espelham e
refletem suas construções em camadas menores, como se houvesse
dois espelhos planos um diante do outro. Destarte, o que acontece
em uma camada maior, vai tocar, ficcionalmente, uma camada in-
ferior, em direção ao infinito. Explica-se: a história da comunidade
de que fala Paulo Graça alcança um fundamento universal pelos
reflexos que aludem a toda tradição literária do Ocidente. Se for
levado em consideração que o livro de Bacellar, na primeira edição,
62 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
era encerrado com uma série de haicais, os quais, mais tarde, foram
separados e transformados em Satori (1999), livro ao estilo japonês7,
a trajetória de Bacellar será ainda maior, perfazendo uma viagem es-
tética em escala que ultrapassa nacionalidades precisas (assim como
toda a literatura europeia), para obter um patamar global.
A função do poeta, dessa maneira, é reinventada junto com seu
poema “na história dos tempos” e dos livros – acrescenta-se. Não
só a fala e a linguagem, mas também a expressão da comunidade
“remota” (em tempo e espaço) é traduzida poeticamente para que
alcance visibilidade, como acontece com os traços de oralidade en-
contrados em “Balada do bairro do céu”. É tarefa do Poeta, pois,
cantar o seu povo pelo hino que entoa; da poesia, por sua vez, é
cristalizar a presença do povo na memória cultural da civilização e
projetá-la para o futuro.
Para compreender esse procedimento, vale retornar à ideia do
canto em seu texto. Destaca-se, além do canto de A divina comédia,
sua presença com os quatro primeiros versos da quinta estrofe do
Canto I de Os lusíadas.8 Trata-se da invocação às Tágides, ninfas do
rio Tejo, com cuja ação de marabilia inspiram o poeta camoniano
e impulsionam-no a inscrever na memória do povo português os
grandes feitos de Vasco da Gama e daqueles que o acompanhavam.
Nesse fragmento, Camões apresenta a função do poeta como o va-
ticinador de uma história grandiosa, cantada com “fúria” para que
seja ouvida por outros povos como uma tuba de guerra, fazendo
suscitar a percepção de suas palavras, na nuance de matizes des-
dobrados nas personagens, conferindo cores, espaço, sons, força e,
enfim, vida aos heróis depositados na memória de Portugal.
Ao selecionar o fragmento em questão, Bacellar evoca essa tra-
dição épica e recupera em seu livro as figuras do Poeta e do Nar-
rador camonianos9, conjugando-os em categoria única, responsável
pelo laço entre os poemas líricos que, lidos de uma única vez, assu-
mem um caráter narrativo, isto é, o “talento épico”. Além de vate,
o Poeta-narrador bacellariano torna-se porta-voz da experiência da
memória fundada; a função do poeta é reinventada, pois ele assume
parcialmente o valor do épico tradicional, enquanto a memória pre-
sentifica o passado – transformado por ela.
Após a sua encenação com a voz camoniana, o Poeta afirma re-
começar o tema cantado em sua música. Considerando a mudança
no alvo na música que se quer apresentar, visualiza-se que a grandi-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 63
loquência tem o tom altivo e grave perdido em desconcertos de no-
tas. Elas rompem a harmonia apoteótica do canto beligerante, inver-
tendo-o, em simulacro, em som de improviso; arranhado nos frisos
das lembranças de um velho, que se recorda do descobrimento da
ruda frauta em sua infância. A música bacellariana joga com noções
inversamente refletidas àquelas encontradas na música de Camões,
o que se dá até pelo reflexo das narrativas espelhadas. O descom-
passo também do ritmo dos versos de Luiz Bacellar (sonetilhos em
redondilha maior) em relação ao ritmo dos versos de Camões (de-
cassilábicos) abre espaço para uma observação sobre categoria do
tempo. Para tanto, é necessário ter em mente que a perspectiva do
homem adulto (no texto camoniano) é duplamente invertida por es-
corços, isto é, pelos efeitos de perspectiva que apresentam os objetos
menores do que o natural, quando os mesmos objetos são vistos de
frente ou à distância. No caso de Frauta de barro, em que o tempo
é direcionado para a esfera da memória, o Poeta-narrador conta a
seu leitor a experiência da descoberta de seu brinquedo (a frauta) e
redescobre uma segunda vez as canções-lembranças, transmudando
ludicamente a infância perdida em matéria de poesia.
Pela categoria do tempo, Bacellar recupera outra tópica do po-
eta clássico, evocando, assim, a Lei Leteia mencionada pelos versos
da Ode VII10, os quais são analisados por Eduardo Lourenço, sob a
ótica da filosofia, com as seguintes palavras:
Texto precioso, pois nos confirma na ideia de que a Epopeia nas-
ceu sob o signo da reminiscência, epopeia no passado mais que
no presente. Mas texto mais precioso ainda porque nos revela
sem ambages a função vital do canto camoniano: esse canto é a
única defesa contra a noite da memória, o único gesto mágico
que suscita a luz capaz de vencer essas trevas em que se perdem
para sempre os ecos dos actos e dos pensamentos dos homens.
(LOURENÇO, 1983, p. 41)
Nesse texto, fica clara a resistência da memória em relação à
força do esquecimento. Na tensão engendrada pelas duas forças,
o canto transmuda-se em síntese produtora de uma materialização
possível no âmbito poético; a existência da música garante o funda-
mento da vida, a qual será projetada em figuras abstratas, capazes
de subsidiar a própria memória oferecida ao presente. Assim, a poi-
ésis camoniana torna-se responsável pela imortalidade daquilo que
64 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
ela mesma carrega em “som alto e sublimado”. Em Bacellar, essa
iluminação é reforçada quando seu texto alude a outro escrito do
autor português: “Sobre os rios”, texto em que a imagem da frauta
é transformada em objeto com valor menor.
[...]
Ficareis oferecida
à fama, que sempre vela,
frauta de mim tão querida,
porque, mudando-se a vida,
se mudam os gostos dela.
Acha a tenra mocidade
prazeres acomodados,
e logo a maior idade
já sente por pouquidade
aqueles gostos passados.
[...]
(CAMÕES, 1998, p. 113)
Compreendendo que a esfera musical carrega em si a categoria
do tempo, a imagem da frauta concentra melodia e matéria bruta
em único símbolo, e, assim, passado e presente são conjugados em
máscaras antípodas (de criança e de adulto). Uma vez acionado o
símbolo, ele desperta da consciência do sujeito, a fim de iluminar
sua própria história. Nesse jogo, a melodia atinge o plano mais ín-
timo do eu lírico e traz à consciência uma explosão de imagens
afetivas revestidas de melancolia. A temporalidade relativa entre as
esferas criança/adulto permite pensar que a frauta não é apenas um
objeto qualquer nas mãos do eu lírico envelhecido, mas um brinque-
do igualmente envelhecido, em que são reunidas suas lembranças.
Ainda que a mocidade seja tenra, o afeto denota seu afastamento; a
acomodação dos prazeres, em relação paralela, sugere que os vestí-
gios dos “gostos passados” já se esvaecem.
Diferentemente da “tuba canora” de Os lusíadas, a frauta bacella-
riana assume o valor rústico de avena ao flutuar da grandiloquência
à gradação melódica diminuta. Em Luiz Bacellar, a temporalidade
também age de forma ambígua, investindo-se poeticamente da re-
lação antípoda velho/criança. Onde, em Camões, era encontrada
uma fissura temporal, nasce um quiasmo flutuante na poesia do
poeta brasileiro. Dizendo de outro modo: Bacellar abre um lugar
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 65
possível por meio do qual a sensação eclode em sensibilidades que
se territorializam, marcando uma vez mais, à frente do Poeta, aquilo
que lhe era distante. Esse processo tem efeito duplo pelo fato de
que, ao assumir a máscara da criança, a da velhice afasta-se de si,
sendo transferida para um segundo plano; ao despertar, entretanto,
a consciência do velho, a máscara da criança recua; o que se realiza
na síntese é um malabarismo lúdico-poético, pois ambas as másca-
ras se fazem orbitais próximos e distantes.
O motivo de fazer o trajeto pelo símbolo “frauta” em Camões é
mostrar o trabalho poético de Luiz Bacellar em relação ao clássico
camoniano, um de seus mestres em poesia. Pela trajetória, verifica-
-se o domínio de leitura e o manejo do estilo do poeta português;
agora, a expressar o canto do espaço “remoto” brasileiro. Esse ludis-
mo poético encontrado em Frauta de barro aponta para um pensa-
mento antigo, em que o fazer poético nunca estivera desvencilhado
da ideia de jogo. A respeito disso, são aludidas as palavras de Hans
Huizinga, para quem
[...] a função do poeta continua situada na esfera lúdica em que
nasceu. E, na realidade, a poiésis é uma função lúdica. Ela se exer-
ce no interior da região lúdica do espírito, num mundo próprio
para ela criada pelo espírito, no qual as coisas possuem uma
fisionomia inteiramente diferente da que apresentam na “vida
comum”, e estão ligadas por relações diferentes das da lógica
e da causalidade. Se a seriedade só pudesse ser concebida nos
termos da vida real, a poesia jamais poderia elevar-se ao nível da
seriedade. Ela está para além da seriedade, naquele plano mais
primitivo e originário a que pertencem a criança, o animal, o
selvagem e o visionário, na região do sonho, do encantamento,
do êxtase, do riso. Para compreender a poesia precisamos ser
capazes de envergar a alma da criança como se fosse uma capa
mágica, e admitir a superioridade da sabedoria infantil sobre a
do adulto. (2000, p. 88)
Como força capaz de cativar, a poesia desestabiliza o apreciador
quando o leva para fora da realidade por meio do encantamento. A
ruptura com a sisudez pode, inicialmente, provocar certo descon-
forto, entretanto, a mágica da poesia permite o acesso novamente
ao sonho, revivendo no adulto a “lógica infantil”, despreocupada
com as fixações e a rigidez do mundo externo. O efeito que pare-
66 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
ce absurdo, na realidade, rende o sujeito envelhecido, a ponto de
despi-lo, para que, outra vez, ele possa retornar o olhar para si e ver-
-se a criança que não morreu. A ascendência da criança, desse jeito,
preenche o espaço dominado pelo velho, nutrindo-o com aquilo que
ele acredita ter perdido. A capacidade de sonhar, portanto, medra
mais uma vez a vida.
À luz dessas palavras, a poesia torna-se campo para que haja a
conversão de duas matérias naturalmente opostas. Entendê-la atra-
vessada pelo ludismo poético de que fala Hans Huizinga esclarece
a organização interna que forma o Poeta-narrador. Sendo a poiésis
uma forma inerente de ludismo, Bacellar evidencia tal evento em
sua engenharia textual, ao encenar em metalinguagem a figura do
Poeta em seu livro, dizendo repetidas vezes “É o tema recomeçado / na
minha vária canção”. O Poeta direciona o texto para o próprio fazer
poético, modalizando as tópicas camonianas em sua música descon-
certada. Abre-se o espírito do leitor, concausante da trajetória que
será percorrida, fugindo à lógica tradicional linear aparente, a qual
acompanha o trajeto pelos espaços de uma Manaus posteriormente
apresentados no livro. Assim, o Poeta envereda pela memória, es-
quadrinhando paisagens com base no que vê e no que se recorda.
Elas serão (re)conhecidas pelo Poeta, e o tempo da memória ofere-
cerá os elementos, à medida que o próprio leitor – possivelmente
também envelhecido – compartilhar da “capa mágica” e admitir a
“sabedoria infantil”. Mais adiante, essa sabedoria ganhará espaço, a
fim de que o eu lírico se apresente como colecionador quando diz:
[...]
Se vires, leitor, o que há de
agreste no que aqui trouxe
com estas canções que colhi,
sentirás minha saudade
provando o gosto agridoce
das amoras que escolhi...
[...]
(BACELLAR, 2011, p. 21)
O direcionamento para um interlocutor sugere que o evento
pretérito se torna narrativo, a fim de que o leitor possa compreen-
der/experimentar o que é contado. Na apresentação das lembran-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 67
ças em forma de linguagem escrita ficam mais claras as noções que
iniciam a construção da coleção bacellariana. Primeiramente, o Po-
eta quebra os padrões tradicionais de poesia, em que o tom con-
fessional não é correspondido, para direcionar-se em busca de um
leitor imaginário, capaz de viver com ele no mundo que está sendo
outra vez percorrido. Trata-se de uma insinuação do Poeta, como
um convite informal, no qual o Eu lírico assume, conjuntamente
ao Poeta, a prévia “colheita” de canções-memórias, com o objetivo
de que seu leitor possa sentir os afetos por ele experimentados no
tempo da infância.
Poder-se-ia dizer, assim, que a criança está para o Eu lírico assim
como o velho está para o Poeta. Pela perspectiva dela seriam vistas
as pausas, os detalhes de cada território descrito; pela dele, a crono-
logia que avança com a marca do tempo. Essa proposta é sustentada
pela atitude lírica da qual se reveste a voz infantil ao mencionar o
seu mineral representativo: a argila. O ofício de modelar o símbolo
mineral para criar a frauta com água e sopro verte-se na forma lírica
da canção, isto é, na “[...] fusão do subjectivo e do objetivo, a autor-
revelação de uma disposição interior [...]” (KAYSER, 1968, p. 231).
A marca originária do mineral é transmitida ao canto, a penetrar
os ouvidos do leitor, e às amoras, a fim de que ele sinta o sabor da
saudade. A origem é símbolo que ilumina o fruto-estória-sensação
oferecido. A estória, como evento do passado a ser extraído de den-
tro do fruto, não se separa do afeto, todavia, não deixa de prefigurar
o distanciamento dos tempos, o qual é combinado com o outro mi-
neral que só vai aparecer no terceiro sonetilho de “Variações sobre
um prólogo”: o carvão. Como símbolo do fogo escondido (CHE-
VAILER; GHEERBRANT, 2009, p. 196), em oposição à água, o car-
vão que risca o muro, outro elemento rígido, contrapõe-se à argila.
Os minerais solidificados pressupõem a transformação irreversível,
seja pelo fogo, como transmutação ou ritual de passagem, seja pela
mistura de outros minerais para a construção do muro. Sua agluti-
nação produz uma inscrição anárquica, isto é, que se rebela contra
a lógica regente e assume arbitrariamente outra atitude. Ambos os
significados sustentam a antítese formada pelo signo da velhice. Ao
se afastar cada vez mais do ponto originário para narrá-lo, a velhi-
ce emparelha-se à atitude tradicional da épica: “[...] um narrador
conta a um auditório alguma coisa que aconteceu. O ponto de vista
do narrador encontra-se, pois, em frente do que vai contar [...]. A
68 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
clara expressão linguística disto é o pretérito, em que a narração se
apresenta como passada, isto é, como qualquer coisa de imutável, de
fixo. [...]” (KAYSER, 1968, p. 243). O pretérito surge na tentativa de
fixação por meio da linguagem. Ao materializar seu canto pela escri-
ta, o Poeta inscreve seus traços na memória do leitor e na própria.
Essas presenças, entretanto, oferecem-se imbricadas o suficiente
para que não sejam dimensionadas com precisão, tendo em vista
que a presença de um não se limita ao seu território. Dessa forma é
possível pensar que não só o Poeta (velho) observa o Eu lírico (crian-
ça), como também o inverso acontece, e o leitor está a ver durante
todo o tempo também a criança que observa o velho a inscrever o
seu canto no muro da velhice. Na realidade, um invade o espaço
do outro, e ambos os territórios são erigidos e desconstruídos qua-
se simultaneamente. Isso permite a convivência dessas esferas em
pontos de concomitância. Dessa maneira, a memória que anima o
livro recupera as marcas subjetivas que há muito foram depositadas
sobre as coisas, fazendo com que elas despertem no Poeta a ação
imaginativa que permita o traslado do passado para o momento
vivido no agora. O que é encontrado dentro do livro está longe de
partir unilateralmente do presente, tendo em vista que o ludismo
é versado à maneira de como se dá a (re)descoberta do passado:
as lembranças são trazidas pela força afetiva da recordação e des-
dobradas sobre as coisas em um doloroso amálgama de amargura
e nostalgia. Num entrecruzamento de planos temporais, a matéria
lírica apresenta ao leitor um encontro de eventos que se chocam
em “cápsula[s] de incêndios” e explodem em “estrelas de dor”, con-
forme o “Soneto da caixa de fósforos” (BACELLAR, 2011, p. 33),
isto é, em iluminações violentas sobre consciência do sujeito lírico,
redimensionando e pondo à vista a segregação criadora do Fiat Lux
genesíaco. De um lado, fica encerrada a impossibilidade de recupe-
ração total por parte da memória, e, de outro, o seu caráter seletivo
de coleção. Sobre esse segundo sentido, pensa-se sobre a atitude da
memória como um ato de colecionar eventos, coisas, momentos,
pessoas e, antes de tudo, objetos; todos tornados fictícios por sua
ação, destinando-os à formação de um arquivo imaginário com a
capacidade de preservá-los após a prévia recordação que compõe o
elenco daquilo que será mantido nesse espaço.
Aponta-se que, ao escrever, antes de tudo, em “Variações sobre
um prólogo”, que suas lembranças serão “temas recomeçados na minha
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 69
vária canção” (BACELLAR, 2011, p. 23 – grifo meu), Luiz Bacellar
diminui as tensões das diferenças entre as estéticas de outros auto-
res e permite a seleção criadora de seu livro. A frauta apreendida
pelo Eu lírico será responsável pela modalização das coisas em ima-
gens e sons, para que, mais tarde, o sujeito contemple-as. A matéria
é transformada em tema, ideia, como bem mostram os versos que
fecham “Balada da rua da Conceição”, em que o próprio sujeito se
indaga: [...] (Mas será mesmo que existe / essa rua na cidade? / ou
é rua da concepção / no velho Cais da Saudade?)” (BACELLAR,
2011, p. 50). Os afetos que despertam as ideias acabam por torná-las
consolidadas, autônomas. Nesse caminho, toma-se o que diz Valéry
sobre a criação desse estado poético:
[n]osso pêndulo poético vai de nossa sensação em direção a al-
guma ideia ou a algum sentimento, e volta em direção a alguma
lembrança da sensação e à ação virtual que reproduziria essa
sensação. Ora, o que é sensação está essencialmente presente.
Não há outra definição de presente além da própria sensação,
completada talvez pelo impulso de ação que modificaria essa
sensação. E, ao contrário, o que é propriamente pensamento,
imagem, sentimento é sempre, de alguma maneira, produção de
coisas ausentes. A memória é a substância de qualquer pensamen-
to. [...] (VALÉRY, 2007, p. 205-206).
Depreende-se, assim, das palavras de Valéry, que as coisas au-
sentes se fazem presentes mediante o desejo do Eu lírico. A vontade
de presentificação da imagem mnemônica faz com que ele busque
recursos que possam torná-la sensível. Na própria sessão “O poeta
veste-se”, observa-se que as vestimentas do homem se (con)fundem
com elementos do cenário de maneira iconográfica, como se Ba-
cellar construísse uma tela para que o leitor pudesse visualizar seu
Eu lírico, numa aproximação íntima dessa figura com o que está ao
seu redor: o paletó é feito de brumas; as calças, de pedra; a camisa,
de neblina; e a gravata, de arco-íris, por exemplo. O vestir-se de mate-
rialidade acaba por investi-lo de subjetividade. Isso acontece porque
a base da obra está na experiência infantil conservada/colecionada
pela memória, todavia, não se limita ao evento dessa fase, pois diz
respeito à poiésis e, antes de tudo, à forma pura com a qual a criança
pode ver o mundo. A linguagem tem, segundo propõe Maria Es-
ther Maciel, “[...] dupla (e contraditória) potencialidade de restituir
70 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
a presença das coisas ao mesmo tempo em que as faz desaparecer
enquanto realidade bruta” (MACIEL, 2004, p. 97-8). Isso quer dizer
que as materialidades reais serão atravessadas pela subjetividade, a
fim de que, num segundo momento, possam ser absorvidas, redi-
mensionadas e reorganizadas pelo sujeito que as contempla. Ao fim
deste passo, pode-se dizer que essa forma de ludismo da memória
colecionadora é responsável por formar a mesma memória estética
em seus poemas.
Paródia: a harmonia no desafino
Neste momento, é necessário fazer uso do esclarecimento de
Linda Hutcheon, a qual menciona que, no século XX, as formas de
arte têm mostrado desconfiança para com a crítica, “a ponto de pro-
curarem incorporar o comentário crítico dentro de suas próprias es-
truturas” (HUTCHEON, 1985, p. 11). Essa incorporação traz como
resultados efeitos metalinguísticos muitas vezes interartísticos,
numa autorreflexão que traduz as próprias intenções da arte pelas
instâncias criadas dentro de sua matéria de expressão. Visualiza-se a
reflexividade de que fala Hutcheon na própria estrutura narrativa em
mise en abyme construída pelos recursos que espelham outros textos
como um estatuto do livro. Ao lado disso, poder-se-ia citar, também,
a corporificação do Poeta em personagem em “O poeta veste-se”.
Tais procedimentos direcionam a pesquisa para a aproximação en-
tre Hutcheon (1985) e Eliot (1989), no que diz respeito ao leitor,
pois, diante de Frauta de barro, este último é obrigado a recuperar
toda a herança literária do livro. Embora exija um arcabouço de
leitura enorme, isso, por sua vez, não deve fazê-lo um investigador
de referências. O olhar do leitor crítico deve ser direcionado para o
procedimento de autorreflexão, pois nesse procedimento ocorre a
transformação do texto referendado, convertendo-o em matéria ele-
mentar, a ser colecionada na construção do mundo possível. Nesse
sentido, Frauta de barro conjuga textos e estéticas de muitas épocas
literárias no momento presente, tal como faz o Eu lírico com as me-
mórias durante a recordação.
Por esse efeito de metalinguagem é alterado o alvo do autor-
-referência para o procedimento do texto, no momento de sua dic-
ção. Hutcheon denomina esse processo como paródia, voltando o
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 71
conceito para a arte do século XX. Para ela, “[a] paródia é, pois,
uma forma de imitação caracterizada por uma inversão irónica, nem
sempre às custas do texto parodiado [...]” (1985, p. 17), o que quer
dizer que o foco/alvo é o novo texto; não, o antigo. E continua di-
zendo que “[n]ão se trata de uma questão de imitação nostálgica de
modelos passados: é uma confrontação estilística, uma recodifica-
ção moderna que estabelece a diferença no coração da semelhança”
(1985, p. 19). Em Bacellar, isso pode ser visto logo na primeira das
sete sessões do livro, chamada “Variações sobre um prólogo”.
Advindo dos estudos de piano, o caráter musical das variações
consiste no que é apontado por Arnold Schoenberg pela ideia de
variação em desenvolvimento, como uma contínua transformação da
ideia inicial em fragmentos. Trata-se de uma estrutura inicial, ge-
radora de material temático suficiente, sobre o qual são aplicadas
pequenas alterações de seus elementos composicionais, o que se de-
senrola em pequenos segmentos formais subsequentes. No caso de
Bacellar, verifica-se que o primeiro grupo de poemas é composto
não apenas pelo poema mencionado, mas também por “O poeta
veste-se”. Intimamente, ocorre uma simetria entre os procedimentos
adotados nesses textos, os quais podem ser descritos da seguinte ma-
neira: “Variações sobre um prólogo” é composto por três poemas,
em que a irregularidade do tom opera o contraste com a regularida-
de trina do conjunto, gerando a primeira tensão do livro na elabora-
ção do canto, o qual segue a fórmula do próprio texto, encontrada
nos versos “sempre com ar de magia / sai o canto do cantor”. Após
essa etapa de execução, será, de fato, apresentado seu cantor/Poeta
como personagem. O que está em evidência não é o compositor,
mas a própria música/poesia.
É necessário observar o conjunto dos textos a fim de visualizar
graficamente a disposição inicial da simetria. Por essa visão, será
possível perceber que compartilham da mesma disposição estrutural
de quatorze versos, distribuídos em dois quartetos e dois tercetos, o
que evoca a tradição clássica de Petrarca sobre o soneto. Ao final de
cada texto, nota-se, ainda, um conjunto de dois versos, a romper o
tradicionalismo classicista quando acrescenta uma pequena estrutu-
ra conhecida como strambotto, forma medievalista.11 Entre tradição
popular e culta, abre-se espaço para um elemento intervalar ao final
de cada poema, responsável por recuperar a ideia desenvolvida no
sonetilho e lançá-la para o poema subsequente, a fim de que seja
72 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
dilatada a narrativa inicial e levemente desenvolvida no sonetilho
posterior. O mesmo procedimento estrutural acontecerá com o se-
gundo poema até que seja alcançado o terceiro. No último, a força
concentrada pelos lançamentos dos poemas anteriores catapulta os
temas para fora da sessão e alcança as outras seis partes do livro.
Todos esses quesitos encontram no trabalho cuidadoso que gera o
isomorfismo do poema.
Leia-se o conjunto:
I II III
Em menino achei um dia Jorre a módula toada Nos longes da infância paro;
bem no fundo de um surrão com seu churriante humor há uma inscrição sobre o muro:
um frio tubo de argila que sempre com ar de magia Frauta clara, arroio escuro,
e fui feliz desde então; sai o canto do cantor. frauta escura, arroio claro.
rude e doce melodia Canto como u’a menina E esse cavalo capenga?
quando me pus a soprá-lo colhendo amoras no mato E esse espelho espedaçado?
jorrou límpida e tranquila (com medo de estar sozinha) E a cabra? E o velho soldado?
como água por um gargalo. num tom faceto e gaiato. E essa casa solarenga?
E mesmo que toda a gente Se vires, leitor, o que há de Tudo volta do monturo
fique rindo, duvidando agreste no que aqui trouxe da memória em rebuliço.
destas estórias que narro, com estas canções que colhi, Mas tudo volta tão puro!...
não me importo: vou contente sentirás minha saudade E, mais puro que tudo isso,
toscamente improvisando provando o gosto agridoce essa anárquica inscrição
na minha frauta de barro. das amoras que escolhi... feita no muro a carvão.
É o tema recomeçado É o tema recomeçado São temas recomeçados
na minha vária canção. na minha vária canção. na minha vária canção.
(BACELLAR, 2011, p. 21-23)
No primeiro poema, ao falar sobre o dia em que encontrou a
frauta, sobressai o improviso, principalmente pelo aspecto sonoro
do texto, em que as rimas intercaladas da primeira estrofe pesam
sobre b. O tom ascende com o alteamento do timbre também con-
centrado no intercalar entre abab, de forma paralela ao conjunto
posterior (contrastam as palavras “surrão” e “então”, oxítonas, com
os termos “soprá-lo” e “gargalo”). Tal contraste, o qual denota o
desconcerto, cede lugar para uma oscilação menor, ao passo que as
rimas def dos dois últimos tercetos harmonizam o quadro sonoro,
embora continuem em contraste com o que é dito no conteúdo do
poema.
A demarcação do passado em detrimento do presente é vista
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 73
logo no primeiro verso, seguida da descoberta do instrumento. A
matéria do objeto não é requintada, mas grosseira, assim como o
lugar de onde foi tirado, porém, a imaginação infantil transmuda
o objeto em brinquedo, como fazem as crianças ao brincar de as-
tronautas em foguetes quando, na realidade, estão em uma caixa
de papelão, por exemplo. Em “rude e doce melodia”, aspereza e
delicadeza são conjugadas, embora opostas, enquanto o sopro se
faz matéria criadora de um enorme encantamento (melodia). A re-
lação sinestésica faz ver jorrar limpidez e tranquilidade de um som
transparente, a externar aquilo que há de mais puro em nós: assim a
fantasia faz recrudescer a matéria viva, ao passo que a ingenuidade
e a espontaneidade infantis guardam em si a indiferença para com o
mundo adulto. É dessa forma que ela logra o fantasioso que deseja.
O som grave do primeiro poema perde força, e a primeira es-
trofe do segundo texto, após a posse do objeto-brinquedo, torna-se
mais alta. Veja-se que a abertura do fonema /o/ tem menos impacto
sonoro que os fonemas nasais em paralelo na primeira estrofe do
poema anterior. Nessa primeira estrofe do segundo poema, são mar-
cadas duas palavras que não rimam (“toada” e “magia”), associadas
às formas sonoras internas de /o/ seguido de /a/ em “com ar” e “o
canto”, as quais quebram o ritmo que vinha sendo desenvolvido no
primeiro texto do conjunto. Nota-se, também, que as rimas da pri-
meira e da segunda estrofe são soantes, da mesma maneira que na
terceira e da quarta (nesta última, o Poeta orienta o leitor a seguir a
oralidade com a monotongação de “trouxe”, a fim de que coincidir
o som com “agridoce”). Essa atitude, combinada à rima preciosa no
encontro dos termos “o que há de” e “saudade”, assemelha-se aos
toques na frauta pela criança, que, certamente, não tem domínio
sobre o instrumento, o que faz, a todo momento, com que ela erre
e desafine. Concentra-se, assim, no poema central, a maior tensão
que existe entre os três, exatamente no momento em que não há
somente a investidura da máscara de menina, mas também em que
há o convite ao leitor, para que participe da brincadeira poética. A
brincadeira com o interlocutor cava um lugar no meio da progres-
são temática para remeter à atitude do clássico camoniano em outro
poema, do qual são destacados os versos “E sabei que, segundo o
amor tiverdes, / Tereis o entendimento de meus versos” (1998, p.
19). Neste momento, o Poeta mobiliza o artifício criado por Camões
para legitimar a sua criação. Segundo ambos os poemas, só será
74 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
possível ao leitor compreender o que está sendo tratado como tema
se ele for coparticipante no jogo da representação e no jogo da vida.
Em Camões, trata-se de compreender as vontades do Amor; em Ba-
cellar, trata-se de conhecer o movimento da saudade, pelas imagens
das canções-lembranças e ser criança novamente.
No último poema, o toque das rimas muda novamente, assu-
mindo, agora, a disposição interpolada para os quartetos, enquanto
os tercetos têm rimas efe, fgg. A situação inverte-se e, nesse poema,
os quartetos tornam-se regulares enquanto os tercetos, irregulares.
Esse é outro exemplo da tensão que vem sendo concentrada e dilata-
da no decorrer do conjunto, simulando tons baixos e altos em disso-
nância, a produzir a melodia. Caminha-se, dessa maneira, pelos três
poemas, da harmonia para o desconcerto, em idas e vindas. Dessa
forma, não seria esperado algo diferente no desenvolver do livro.
Veja-se a quantidade de elementos prenunciados pelo último poema
da tríade: infância, inscrição, frauta, cabra, etc. O “cavalo capenga”,
por exemplo, aparecerá em “Noturno do bairro dos Tócos”; a “casa
solarenga” e o “espelho”, por sua vez, fazem alusões prévias a epi-
sódios de “Balada da rua da Conceição”. Na sua combinação trina,
os textos concentram na esfera musical toda a antevisão ao jogo da
memória lúdica dentro do livro. Isso acontece pelo caráter lírico en-
contrado na forma da canção: nela não se encontram subordinações
de termos, mas circulações de termos flutuantes. Nota-se que os epi-
sódios elencados no poema recebem a força originária encontrada
no primeiro dos três sonetilhos para tornarem-se autônomos. A cir-
cularidade lírica reforçada pela repetição do strambotto potencializa
a energia das palavras-imagens, as quais saltam aos olhos do leitor.
Cada interrogação lançada no terceiro poema recebe o movimento
circular gerado pela cadência dos versos para reuni-los no “montur-
ro da memória em rebuliço”, ou seja, voltam-se, pela forma lírica
da canção, para a profundidade do ser. Assim, o arredondamento,
como resolução das ideias do texto, não acontece, uma vez que os
temas vazam da primeira sessão do livro para outras partes. Aceito
o convite feito ao leitor no segundo poema, agora, nesse terceiro
sonetilho, percorrer-se-á os espaços do ser do Eu lírico.
Por assim dizer, o ludismo estrutural promove uma insinuação
a dois procedimentos formais: o paralelismo e o refrão, no conjunto
dos poemas. Para M. Rodrigues Lapa, esses são recursos que com-
plementam um ao outro: “[s]e o paralelismo exige que, pelo menos
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 75
no início, as estrofes se assemelhem, o refrão, que é muitas vezes um
verdadeiro mote e a alma da cantiga, determina necessariamente
um mesmo teor para os versos que o precedem [...] (1970, p. 133). A
aproximação entre os poemas é reforçada a todo modo pela repeti-
ção da ideia de canção, o que redireciona o texto, automaticamente,
para uma produção medieval trovadoresca.12 Dessa forma, em outra
instância-território, maior, Bacellar estabelece nova tensão, ao com-
binar procedimentos formais dos séculos XII e XVI. Logo, acredita-
-se que um único momento estético assumido na abertura de Frauta
de barro não poderia ser afirmado, pois, desde a primeira sessão,
o que se evidencia é a tensão entre estéticas fora de suas camadas
temporais. Tudo isso na apresentação da variação sobre o prólogo
de Bacellar – o qual, ao utilizar-se de um fragmento de uma peça
teatral (tendo em vista que o prólogo é o momento de abertura do
teatro grego), assume a dramaticidade que será posteriormente en-
cenada pelas personagens do pequeno mundo remoto.
Observa-se um recurso linguístico em um verso de destaque no
texto, responsável por toda a dramaticidade com que será envolvi-
do o Poeta. Trata-se de “Canto como u’a menina”, em que há duas
brincadeiras textuais que o aproximam de cantigas: o primeiro caso
é o disfarçar-se de garota, lembrando o fingimento poético utilizado
nas cantigas de amigo, e o segundo, mais claro, é a supressão da con-
soante “m”, simulando graficamente a métrica trovadoresca, para
manter a regularidade de arte real. Retorna-se às palavras de Hans
Huizinga, para quem
[...] [a] criança representa alguma coisa diferente, ou mais bela,
ou mais nobre, ou mais perigosa do que habitualmente é. Finge
ser um príncipe, um papai, uma bruxa malvada ou um tigre. A
criança fica literalmente “transportada” de prazer, superando-se
a si mesma a tal ponto que quase chega a acreditar que real-
mente é esta ou aquela coisa, sem contudo perder inteiramente
o sentido da “realidade habitual”. Mais do que uma realidade
falsa, sua representação é a realização de uma aparência: é “ima-
ginação”, no sentido original do termo. (2000, p. 14)
Ao praticar o mimetismo, o Poeta agora encena em sua dicção
a investidura de uma máscara, atrás da qual pode esconder, pelo
ilusionismo, a face envelhecida, com o objetivo de experimentar as
amoras-histórias por ele colhidas. Todo o caráter campestre ensaia-
76 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
do com a metalinguagem levanta um cenário coincidente com o
operado pela máscara posta. Ao fim, o “tom faceto e gaiato” deixa
vazar com clareza o procedimento dramático, uma vez que ele foi
intencionalmente improvisado. Em vez de o Poeta atualizar com ri-
gor os procedimentos estéticos selecionados, ele diz manipulá-los
de modo grosseiro e rude, o que demonstra outra vez a autorre-
flexão, porém, com caráter fingido. Na observação que vem sendo
feita, percebe-se que o Poeta tem plena consciência e domínio dos
recursos formais e temáticos, logo, deixar-se iludir pelas palavras
ditas toscas seria aceitar o convite à imaginação que ele oferece ao
leitor. Dessa maneira, o leitor deixa-se enganar e compactua com a
mentira infantil.
Recapitulando o trajeto: entendendo que a simetria acontece
exatamente pela apresentação do canto,13 em toda sua carga melódi-
ca tensionada, seguida da exposição visual do sujeito, cuja dualidade
interna na forma de tensão se inscreve sobre o território do corpo,
em “O poeta veste-se”, arremata-se a simetria entre os dois poemas,
coparticipantes da única sessão sem nome do livro, como prefigu-
ração de todos os temas da viagem bacellariana, dividida em sete
etapas-notas-tons. Depreende-se disso que a variação e o Poeta são os
grandes recursos de metalinguagem interartística: ela, no manuseio
da Música; Ele, das Artes Visuais. Assim, torna-se possível aproximar
a imitação e a paródia como recursos formados, respectivamente,
pelo cânone dentro do livro e pelo manuseio do mesmo cânone.
Ao fim, retorna-se às palavras de Linda Hutcheon:
[...] tal como a paródia, a imitação oferecia uma posição exe-
quível de repetição e eficaz em relação ao passado, na sua pa-
radoxal estratégia de repetição, como fonte de liberdade. A sua
incorporação de outra obra, enquanto construção do espírito
deliberada e reconhecida, é estruturalmente semelhante à orga-
nização formal da paródia. Mas a distância irónica da paródia
moderna poderia muito bem provir de uma perda dessa anterior
fé humanista na continuidade e estabilidade culturais que asse-
guravam os códigos comuns necessários à compreensão de tais
obras, duplamente codificadas. A imitação oferece, todavia, um
paralelo evidente com a paródia, em termos de intenção. [...]
(1985, p. 21)
De tais considerações, desdobradas sobre a dicção do Poeta,
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 77
depreende-se o ludismo como desestruturação de bases discursivas
sólidas, para o rearranjo dos elementos no plano de execução da
música improvisada. Isso sugere a suspensão da realidade não só
pela prática da memória pessoal do Poeta, mas também pelo uso
da memória literária. É através das diversas referências que Bacellar
poderá lançar a música lírico-épica de Frauta de barro, expondo os
seus dois trajetos a serem percorridos: o da Manaus conhecida e o
de suas referências, que, juntos, alçam uma Manaus sedimentada
além do local real, para levantar as bases de um lugar para a coleção
das memórias imaginadas.
Ao fim deste trajeto, a imagem simbólica da rosa dos ventos
traduz a cartografia enquanto a bússola do tempo da coleção imagi-
nada, como um teatro possível por uma escritura em saudação aos
mestres do próprio Luiz Bacellar.
Notas
1
Este texto nasce da pesquisa de mestrado realizada no âmbito do Programa de
Pós-graduação em Letras e Artes da Universidade do Estado do Amazonas, sob
o título de A coleção dos afetos: cartografias de temporalidades sensíveis em Frauta de
barro, de Luiz Bacellar, vinculada ao projeto de pesquisa Estudo sobre uma poética da
repetição: Frauta de barro, de Luiz Bacellar, coordenado pelo professor Allison Leão
na mesma instituição.
2
Em Cartografia sentimental (2013), Suely Rolnik compreende que “[n]o encontro, os
corpos, em seu poder de afetar e serem afetados, se atraem ou se repelem. Dos movimentos
de atração e repulsa geram-se efeitos: os corpos são tomados por uma mistura de
afetos” (2013, p. 31). Nesse sentido, afetar é correlacionado à identificação, ao reco-
nhecimento – alteridade que se abre, tanto para o compartilhamento de algumas
características quanto para o afastamento de outras.
3
Doravante, as referências feitas ao Poeta de Frauta de barro, enquanto categoria fic-
cional, serão escritas com inicial maiúscula, a fim de distingui-lo de outros autores
que serão citados, assim como do próprio Luiz Bacellar.
4
Segundo Roberto Vecchi, a poesia “institui muito mais uma relação cruzada entre
o mundo e o espírito, [...] porque, nela, é como se se manifestasse a espiritualidade
da carne e a carnalidade do espírito, numa brusca inversão que se afasta, de ime-
diato, da transposição direta de um real sensível. Seria portanto uma excrescência
que se torna voz, corpo, e que não encontra palavras” (2010, p. 329). Esse descon-
forto pela ausência de palavras alude ao traço residual mnemônico anteriormente
comentado.
5
No ano em que recebe o Prêmio de Poesia Ovalo Bilac, duas de suas marcas poé-
ticas estiveram na banca de avaliação do concurso. Trata-se de Manuel Bandeira e
de Carlos Drummond de Andrade. Isso quer dizer, simbolicamente, que Bacellar é
consagrado poeta por dois autores considerados por ele como mestres em poesia.
78 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
6
Oh, quanto parve a me gran maraviglia, / Quand’io vidi face ala sua testa! / L’uma
dinanzi, e quella era vermiglia... (ALIGHIERI apud BACELLAR, 2011, p. 6).
7
Antes de Satori, em Crisântemo de cem pétalas (1985), livro escrito em parceria com
Roberto Evangelista, ambos os autores já trabalhavam com 50 haicais escritos por
Bacellar e 50 por Evangelista.
8
Dai-me uma fúria grande e sonorosa, / E não de agreste avena ou frauta ruda, /
Mas de tuba canora e belicosa, / Que o peito acende e a cor ao gesto muda; (CA-
MÕES, s/d. p. 70).
9
A divisão aqui mencionada está à luz dos estudos de Cleonice Berardinelli, em
texto intitulado Os excursos do poeta n’Os lusíadas. Para a autora, a divisão das vozes
no interior de Os lusíadas dá-se não apenas entre os Narradores. Sua divisão ganha
maior complexidade quando ela menciona os “excursos – reflexões, exortações,
queixas – nos quais situamos, evidentemente, as partes iniciais do poema – Pro-
posição, Invocação e Dedicatória – e a exortação final a D. Sebastião. São eles
explícita ou implicitamente expressos pelo Poeta (assim chamaremos ao locutor
não narrador), por sua voz ou pela voz interposta de um de seus personagens.
Caber-lhe-á iniciar e concluir o poema, fechar todos os dez cantos, retornar quatro
vezes à invocação à(s) Musa(s) e tecer comentários de vária ordem” (Cf. BERARDI-
NELLI, Cleonice. “Os excursos do poeta n’Os lusíadas”. In: BERARDINELLI, Cle-
onice. Estudos camonianos. Disponível em: http://www.letras.puc-rio.br/catedra/
revista/6Sem_17.html. Acesso em 08 de Janeiro de 2012).
10
O rudo canto meu, que ressuscita / As honras sepultadas / As palmas já passadas
/ Dos belicosos nossos lusitanos / Para tesouro dos futuros anos, / Convosco se
defende / Da lei Leteia, à qual tudo se rende. (CAMÕES, 1998. p. 10).
11
Conforme aponta M. Rodrigues Lapa, em Lições de literatura portuguesa (1970), no
seu confronto entre formas medievais de composição poética, parece haver indícios
da existência, na velha România, do que ele chama de “um cantarzinho de conteú-
do lírico, galhofeiro ou sentencioso, de que, por um processo de reelaboração mais
ou menos culto, mais ou menos popular, se tiraram em diversos tempos e lugares,
as carjas mozárabes, as cantigas paralelísticas galego-portuguesas e os strambotti
italianos” (1970, p. 90). Com base nessa observação, ratifica-se o conteúdo popular
inserido em Frauta de barro, como representante de uma literatura europeia que,
tendo proximidade linguística da nacionalidade lusitana, remete ao pensamento
de que Bacellar estaria manuseando elementos de cantigas medievais galego-portu-
guesas conjuntamente ao modelo clássico do século XVI.
12
Sugere-se como exemplo dessa aproximação as cantigas seriais de Martim Codax
(B 1278 a 1284 / V 884 a 890 / PV 1 a 7). Lidas de uma única vez, como uma série,
nota-se a narrativa iniciada pelos versos “Ondas do mar de Vigo, / se vistes meu
amigo? / E ai Deus, se verra cedo!” (GONÇALVES, 1983, p. 261). Procedimento
similar acontece na leitura dos três poemas em questão.
13
Hutcheon (1985) aponta em seu estudo sobre a paródia que sua natureza discur-
siva é evidenciada pela palavra grega odos, que significa canto, enquanto o grego
para carrega tanto a noção de ser contrário, como um contracanto que marca a
diferença, quanto a noção “ao longo de”, como sugestão de similitude no desenvo-
limento do discurso.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 79
Referências
ALEIXO, Marcos Frederico Krüger. A sensibilidade dos punhais. Manaus: Edições
Muiraquitã, 2011.
ALMADA, Carlos. “O conceito de variação em desenvolvimento no primeiro
movimento da sonata para piano OP.2/1, de Beethoven”. Revista Música Hodie. v.
8, n. 2, 2008, p. 83-94.
BACELLAR, Luiz. Frauta de barro. 9. ed. Editora Valer: Manaus, 2011.
______. Quarteto: obra reunida. Organização de Tenório Telles. Manaus: Valer,
1998.
BLOOM, Harold. O cânone ocidental: os livros e a escola do tempo. Trad. de Marcos
Santarrita. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
CAMÕES, Luís de. Para tão longo amor tão curta vida: sonetos e outras rimas. São
Paulo: FTD, 1998. (Coleção grandes leituras)
CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos: (mitos, sonhos,
costumes, gestos, formas, figuras, cores, números). Trad. de Vera da Costa e Silva e
outros. 23. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009.
COMPAGNON, Antoine. O demônio da teoria: Literatura e senso comum. Trad. de
Cleonice Paes Bento Mourão e Consuelo Fortes Santiago. 2. ed. Belo Horizonte:
Editora UFMG, 2010.
ELIOT, Thomas Stearns. Tradição e talento individual. In: ELIOT, Thomas Stearns.
Ensaios. Tradução, introdução e notas de Ivan Junqueira. São Paulo: Art Editora,
1989.
HUTCHEON, Linda. Uma teoria da paródia. Trad. de Teresa Louro Pérez. Lisboa:
Edições 70, 1985. (Coleção Arte & Comunicação)
KAYSER, Wolfgang. Análise e interpretação da obra literária: introdução à ciência da
literatura. Trad. de Paulo Quintela. 4. ed. Coimbra: Arménio Amado Editor, 1968.
LAPA, Rodrigues. Lições de literatura portuguesa: época medieval. 7. ed. Coimbra:
Coimbra Editora, 1970.
RICŒUR, Paul. A história, a memória, o esquecimento. Trad. Alain François. Campinas:
Unicamp, 2008.
MACIEL, Maria Esther. A memória das coisas: ensaios de literatura, cinema e artes
plásticas. Rio de Janeiro: Lamparina, 2004.
PAGEAUX, Daniel-Henri. Da imagem cultural ao imaginário. In: BRUNEL, Pierre
& CHEVREL, Yves (org.). Compêndio de Literatura Comparada. Trad. de Maria do
Rosário Monteiro. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.
ROLNIK, Suely. Cartografia sentimental: transformações contemporâneas do desejo.
Porto Alegre: Sulina; Editora da UFRGS, 2011.
SALTARELLI, Thiago. Imitação, emulação, modelos e glosas: o paradigma da
mímesis na literatura dos séculos XVI, XVII e XVIII. Aletria: Revista de Estudos de
Literatura, Belo Horizonte, v. 19, n. Especial, p. 251-264, jul./dez., 2009.
VALÉRY, Paul. Poesia e pensamento abstrato. In: VALÉRY, Paul. Variedades. Trad.
de Maiza Martins de Siqueira. São Paulo: Iluminuras, 2007.
80 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Poesia das Imagens:
ilustração e artes gráficas na edição de
1963 de Frauta de barro, de Luiz Bacellar
Luciane Viana Barros Páscoa
A primeira edição de Frauta de Barro, do poeta Luiz Bacellar, foi
publicada em 1963. Em 1959, o autor havia recebido o Prêmio
Olavo Bilac da Prefeitura do Rio de Janeiro pelo livro, que auferiu
quatro anos depois uma edição cuidadosa.
A edição aqui abordada e seu conjunto de ilustrações compõem
a intenção de estudá-la como um livro-objeto, uma edição de arte.
Desse modo, será feita uma apreciação estética de seu projeto gráfi-
co, da capa e das ilustrações que integram a obra. No livro de arte,
a descrição aborda as suas características materiais: o projeto gráfi-
co, o tipo de papel, o formato escolhido, o artista que o ilustrou, a
tiragem, o tipo de impressão e o acabamento. A edição de arte é um
produto bem projetado e acabado. No livro de artista, a diferença
está no conceito que encerra, “[...] pois ele pode ser aparentemente
comum, como uma edição tradicional, conter apenas texto, e pode
ter sido produzido materialmente de maneira bem acabada (PEREI-
RA, 2014, p. 11).
Frauta de barro foi editado e distribuído pela Livraria São José,
no Rio de Janeiro, com financiamento do Governo do Estado do
Amazonas. Carlos Ribeiro foi o editor e livreiro que fundou a Li-
vraria São José em 1947, onde editou obras significativas de autores
nacionais e foi responsável por várias edições artísticas. A livraria
São José de Carlos Ribeiro “[...] atuou de forma moderada no mer-
cado editorial nas décadas de 1950 e 1960, sobretudo com literatura
brasileira e crítica literária” (HALLEWELL, 2005, p. 276).
Um elemento curioso: no colofão do livro existe a informação
de que a edição foi impressa em Manaus, pela Editora Sérgio Car-
doso & Cia. Ltda. Acerca disso, podem-se levantar duas hipóteses:
1) de que o projeto gráfico teria sido elaborado em Manaus, na
editora Sérgio Cardoso, que imprimiu a obra. Nesse caso, o autor te-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 81
ria acompanhado cada parte da elaboração do livro, opinando com
frequência e certamente indicando a autoria do projeto; 2) de que
o projeto gráfico teria sido elaborado pela Livraria São José, que
também distribuiu a obra. Nesse caso, pela distância, o anonimato
do designer poderia ser justificado.
O projeto gráfico, sem identificação do autor, segue uma ten-
dência convencional, com alguns traços de flexibilidade tipográfica
e certa característica modernista presente nos impressos alternati-
vos dos anos 50. O aspecto modernista pode ser notado na utili-
zação de algumas fontes tipográficas em caixa baixa, como se vê
na aparição do título no rodapé, assim como também no nome do
autor. As letras utilizadas para esse caso não possuem serifa, o que
já não acontece nas outras fontes utilizadas no restante da diagra-
mação. A utilização do espaço e a distribuição de letras e imagens
obedecem a uma organização que respeita os espaços vazios, fator
que proporciona o descanso e o equilíbrio visual gráfico. As ilus-
trações ficam em páginas exclusivas, sem disputar espaço com os
poemas, mas ficam próximas do poema a que se referem ou com os
quais possuem relação. Muitos designers gráficos dos anos 1950 e
1960 seguiram uma tradição construtivista oriunda da arquitetura
e também receberam a influência da Escola de Ulm, que propagou
o concretismo e as tendências construtivas. Nesse caso específico,
houve certo ecletismo na tipografia e na diagramação, com partes
convencionais, partes que se aproximam do modernismo e outras
mais livres, que procuram subverter o equilíbrio. Trata-se ainda de
uma edição com tiragem especial de 110 exemplares, dividos em
duas séries (A e B) de 55 exemplares cada uma e numeradas de 1 a
55, todas rubricadas pelo autor.
A obra possui, ao todo, dez ilustrações, além da capa e contra-
capa. São quatro xilogravuras de autoria de Álvaro Páscoa, quatro
desenhos a nanquim e a bico de pena de Oscar Ramos, um desenho
a nanquim de André Masson e um desenho a nanquim de Pietro
Lazzari. Moacir Andrade elaborou o ex líbris, a marca do autor, que
aparece duas vezes antes da folha de rosto. Também é afixada na pá-
gina interna da capa uma versão colorida da mesma. É um elemento
gráfico que possui interesse, embora não possa ser considerado ne-
cessariamente uma ilustração.
Moacir Andrade (1927-2016), nascido em Manaus, foi um ar-
tista com vasta produção no Amazonas. Pintor, desenhista e profes-
82 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
sor, estudou no Liceu Industrial do Amazonas entre 1942 e 1945.
Fez cursos de desenho na Escola Técnica Federal de Manaus. Entre
1950 e 1954, viajou ao Rio de Janeiro a estudos, onde fez o curso
de Museologia no Museu Histórico Nacional. Em 1954 ligou-se ao
movimento cultural do Clube da Madrugada. Foi responsável pela
organização do Museu de Arte Folclórica e Popular do Amazonas e
em 1965 foi o diretor-fundador da Pinacoteca Pública do Estado do
Amazonas. Em 1971 executou um painel para a revista O Cruzeiro,
no Rio de Janeiro. Realizou várias conferências e palestras sobre a
arte e o folclore brasileiros em 1975, em várias cidades norte-ameri-
canas. Publicou em 1986, o álbum Manaus: ruas, fachadas e varandas
em Manaus, e em 1990, lançou o catálogo de arte 50 Anos de Pintu-
ra (PÁSCOA, 2011, p. 178).
Em sua trajetória constam inúmeras exposições individuais e
coletivas em diversos países, tais como os Estados Unidos, Noruega,
Irlanda, Austrália, França, Japão, Bélgica, Portugal, Espanha, Ingla-
terra, além de exposições em cidades brasileiras. Ganhou o 1º lugar
no Concurso de Artes Plásticas da Suframa em 1986 e a Medalha de
Mérito Cultural do Ministério da Cultura em 1987.
Moacir Andrade transitou entre o figurativismo expressionis-
ta, a abstração lírica, o realismo fantástico e o paisagismo natu-
ralista. Em 1964, Wilson Rocha observou em sua obra fortes im-
plicações telúricas relacionadas com a região amazônica. Dotado
de admirável domínio técnico do desenho, essa marca de autor
realizada como ex libris, revela a precisão do traço, embora não
seja uma obra que represente determinada fase ou mesmo a per-
sonalidade artística plural de Moacir Andrade. Elaborado como
um brasão de família, contém ao centro um escudo, encimado por
um elmo, ladeado com folhas de acanto. Na parte superior, vê-se
um leão fantástico. No centro do escudo há uma decoração com
folhagens, possivelmente tajás. Na parte superior está escrito “Ex
Libris”, na parte inferior “Ludovici”, ou Luiz em latim, além do
ano de 1963 em algarismos romanos. Logo abaixo do brasão, lê-se
em latim numa faixa “semper verus” (sempre verdade). É interes-
sante observar uma possível relação simbólica entre os elementos
do brasão e o modo como Moacir Andrade via Luiz Bacellar: um
nobre cavaleiro das madrugadas com força imaginativa, sincerida-
de e fantasia, dotado de coragem. O ex libris pode ser interpretado
como uma forma de retrato do poeta.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 83
Marca do autor e ex libris de autoria de Moacir Andrade.
À direita, detalhe do ex libris.
Dentre as imagens presentes no livro, é possível afirmar que
aquelas de autoria de Álvaro Páscoa, Moacir Andrade e Oscar Ra-
mos foram preparadas especialmente para a primeira edição. As
ilustrações de André Masson e Pietro Lazzari foram produzidas an-
teriormente, publicadas nos anos 40 e escolhidas por Bacellar a par-
tir de uma afinidade estética.
A capa, de autoria de Álvaro Páscoa, revela a predominância da
estética construtiva, ao inserir o círculo no retângulo, ou seja, elabo-
ra uma composição a partir de formas geométricas, utilizando tons
de cinza e bege. Na parte direita inferior do círculo, recostado num
tronco, é representada uma figura humana que pode ser identifica-
da como um sátiro. Figura ambígua, com uma das mãos segura uma
flauta. Esse desenho, provavelmente à técnica bico de pena, é quase
imperceptível na composição da capa. Na contracapa, observa-se uma
ilustração na cor vermelha (ou terracota), em que se pode identificar
um vaso quebrado. Uma alusão ao barro, de onde surgiu a frauta em
modo primitivo. No lado direito, um volume em vermelho; no lado es-
querdo, linhas pretas entrecruzadas. A imagem pode ser vista no sen-
tido vertical, mas também pode ser observada no sentido horizontal.
A escolha das cores e dos elementos figurativos possui relação
com o tema do livro. O tipo de letra utilizado para o título, em ver-
melho, quebra a regularidade geométrica da composição – provavel-
84 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
mente na tentativa de estabelecer um diálogo com a obra, que evoca
a memória – e possui estrutura, ritmo, e também se refere aos as-
pectos primitivos e míticos da criação. De acordo com Fadul Moura,
[...] os conteúdos dos poemas apresentam flashes de imagens em
que se concentram ressignificações das lembranças (da literatu-
ra lida, num plano, e do tempo vivido, noutro), o que determina
uma análise detida aos momentos em que o Eu lírico evoca suas
memórias enquanto é sensibilizado pelo que compõe a paisa-
gem. (2016, p. 14)
Capa e contracapa da edição de 1963 de Frauta de barro. Projeto de Álvaro Páscoa.
O poeta é um sátiro, que encontra sua frauta de barro e segue
feliz pelo simples prazer de tocar ou cantar sua poesia. O sátiro é um
ser mitológico híbrido, representado metade homem, metade bode,
com longa cauda, pequenos chifres e orelhas pontiagudas. Pertencia
ao cortejo de Dionísio e possuía natureza maliciosa e lúbrica. Além
disso, perseguia com seu amor as Ninfas nos bosques. Os sátiros ou
faunos (da mitologia romana) amavam o vinho, a dança e a música, e
os pastores lhes ofereciam as primícias dos rebanhos. Como atributo,
a flauta liga-se frequentemente à vida dos pastores. O som pode ser in-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 85
terpretado como a voz de seres místicos. O som da flauta muitas vezes
simboliza o grito da alma separada de Deus, mas que aspira retornar
às esferas celestes, segundo aponta o Dicionário de símbolos (1997).
Álvaro Reis Páscoa (1920-1997), artista português radicado em
Manaus, foi escultor, entalhador, gravurista, professor e gestor cul-
tural no Estado do Amazonas. Sua formação artística foi realizada
em Portugal, onde participou do Círculo de Cultura Teatral e do
Teatro Experimental do Porto. Esteve envolvido com o movimento
neorrealista na literatura e nas artes visuais em Portugal. A partir da
influência de Álvaro Cunhal e Alves Redol, logo se identificou com a
ideologia comunista, cuja preocupação social se fez presente em sua
produção artística. Em 1958 transferiu-se para Manaus, onde traba-
lhou na Sociedade Portuguesa Beneficente do Amazonas, logo se
integrando ao Clube da Madrugada, no qual colaborou com muitas
ilustrações, capas de livros e com suas xilogravuras na página artís-
tica Caderno Madrugada em O Jornal (PÁSCOA, 2012, p. 111). Parti-
cipou de diversas exposições: I Salão de Artes Plásticas do Clube da
Madrugada, I e III Feira de Artes Plásticas em Manaus, I Salão de
Artes Plásticas da Amazônia, em Belém (menção honrosa no gênero
escultura), Coletiva de Artistas Amazonenses no MASP, em 1967.
Durante sua trajetória foi assistente de arte do Teatro Amazo-
nas, diretor dos Museus do Estado, diretor da Pinacoteca do Esta-
do, superintendente da Fundação Cultural do Amazonas, membro
fundador do Conselho de Cultura do Estado e do Grupo de Estu-
dos Cinematográficos. Foi curador de várias exposições e de salões
independentes, como o Salão Aberto de Artes em 1976. Suas obras
figuram nos Museus do Vaticano, em Roma, Museu do Porto de Ma-
naus e acervo da Pinacoteca do Estado do Amazonas, além de cole-
ções particulares em Manaus, Rio de Janeiro, Brasília, Porto, Aveiro
e Espinho. É considerado o introdutor da técnica da xilogravura em
Manaus,1 que depois foi propagada por outros artistas como Getúlio
Alho, José Maciel e Afrânio de Castro. No período de 1959 até 1970,
o artista dedicou-se à obra gráfica, nomeadamente a xilogravura e o
desenho. Provavelmente a escolha dessas linguagens estivesse rela-
cionada com a sua participação ativa no Clube da Madrugada e com
o despertar do interesse em Portugal na década de 1950 pela gravura
em madeira. O aparecimento da Sociedade Cooperativa de Grava-
dores Portugueses em meados da década mencionada impulsionou
a produção artística e promoveu diversas exposições. Alguns artigos
86 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
na revista Vértice (SANTOS, 1953; SOARES, 1957) apontam o cres-
cente interesse pela gravura, por se tratar de uma modalidade que
até aquele momento não havia encontrado lugar no ensino oficial de
Belas Artes, além de ser uma técnica que possibilitava uma difusão
rápida e acessível, aproximando cada vez mais a arte do público.
A primeira xilogravura de Álvaro Páscoa em Frauta de barro é um
retrato de Luiz Bacellar. É um busto-retrato que revela parte do rosto
do poeta, explorando a luz e o contraste. Os traços fisionômicos foram
mantidos, evocando um aspecto melancólico, típico dos retratos psico-
lógicos da iconografia clássica. O delineamento da goiva na madeira
é suave e contido com relação à utilização de recursos expressivos do
material. Em termos formais, privilegiou-se o contraste de claro-escuro.
Retrato de Luiz Bacellar, xilogravura
de Álvaro Páscoa.
A segunda xilogravura ilustra o poema “Torneio de papagaios”.
Álvaro Páscoa marcou em algumas reproduções o título referente.
Nessa ilustração, com a mesma economia formal, observa-se a repre-
sentação de dois papagaios de papel e duas silhuetas humanas sem
rosto, sem identidade, assexuadas, como é comum no neorrealismo,
estética predominante do artista. As figuras esboçam movimentos, e os
papagaios contêm símbolos de cruzes, que podem remeter à heráldica
“aérea” do poema. O papagaio do quadrante esquerdo inferior possui
uma cruz latina e o que figura no quadrante direito superior, uma cruz
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 87
de Malta. Segundo o Dicionário de símbolos (1997), as cruzes simboli-
zam a tentativa de interpenetração entre terra e céu, tempo e espaço,
ou de duas esferas opostas, do número quatro ou mesmo dos pontos
cardeais. A perspectiva da obra é ambígua, por sobreposição, por um
momento evoca a profundidade, por outro a diluição bidimensional.
Xilogravura de Álvaro Páscoa
para o poema “Torneio de papagaios”
A terceira xilogravura de Páscoa em Frauta de barro é para o po-
ema “Porta para o quintal”, e é a que mais se aproxima da proposta
telúrica e contemplativa. Pensada numa composição que evoca as-
pectos de profundidade, existe nela maior equilíbrio entre o claro e
o escuro. Observam-se dois planos: no primeiro está a cadeira den-
tro da casa, a porta está delineada, a cadeira de balanço com partes
visíveis do corpo relaxado e banhado de sol, um quadro de moldura
oval na parede. No segundo plano, a porta aberta para o quintal,
por onde se avistam outras casas, o horizonte e as nuvens. Ambien-
te interno e externo se relacionam, evocando reminiscências. Para
Fadul Moura, o poema possui um jogo sinestésico, em que “som e
cores desenham formas de vidas pequenas (a árvore, os pássaros e a
aranha), todos a sugerir a trilha do destino, que vai do nascimento
com os sapotis, atravessando a liberdade pelos voos dos pássaros até
alcançar morte pela tecedeira da vida” (2016, p.103).
88 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
A última xilogravura desse artista ilustra o poema “Noturno da
rampa do mercado”. Seguindo a tendência de economia de traços,
Álvaro Páscoa delineia aqui os barcos, os mastros e as luzes. Faz
um desenho em xilogravura, buscando um traço mais delicado, ex-
plorando os efeitos de profundidade e permitindo que os veios da
madeira criem uma textura atmosférica, como se faz na técnica da
água-tinta. Na interpretação do poema por parte do artista choveria
nesta cena do ancoradouro? Vale lembrar o significado dos barcos
para a cultura portuguesa: a despedida nos portos, a melancolia e a
saudade de quem partiu. O rio e a água são elementos recorrentes
em outras xilogravuras do artista. Deve-se pressupor que os artistas
convidados a ilustrar a obra escolheram os poemas. Observa-se, en-
tão, uma relação intertextual entre obra poética e visual.
Xilogravuras de Álvaro Páscoa. À esquerda, a xilogravura para o poema
“Porta para o quintal” e à direita, para “Noturno da rampa do mercado”.
Os desenhos a nanquim e à técnica bico de pena são de autoria
de Óscar Ramos (Itacoatiara, Amazonas, 1938). Desenhista, pintor e
diretor de cinema, foi membro do Clube da Madrugada na segunda
metade dos anos 50 e depois se mudou para o Rio de Janeiro, onde
estudou pintura com Ivan Serpa no Museu de Arte Moderna. Mais
tarde, com uma bolsa de estudos concedida pela Universidade Fe-
deral do Pará, passou dois anos na Espanha, onde foi aluno de Ma-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 89
nolo Mompó. Durante sua estada na Espanha tomou contato com o
movimento construtivista através dos teóricos Ángel Crespo e Pilar
Gómez-Bedate, que eram amigos de Julio Plaza, com quem o artista
trabalhou e que veio exercer grande influência em sua obra. Óscar
Ramos também se aproximou do movimento nova-figuração através
do Grupo Equipo Crónica de Valencia e da Nueva Figuracion Ar-
gentina (PÁSCOA, 2011, p. 275).
Em 1965, foi o primeiro colocado no concurso do Prêmio Ho-
menagem a Dante da Piccola Galeria (Rio de Janeiro) recebendo
viagem à Itália. Obteve medalha de bronze no XXII Salão Paranaen-
se de Belas Artes (Curitiba), do qual voltou a participar em 1968.
Figurou na II Bienal de Artes Plásticas da Universidade do Pará, na
qual recebeu o primeiro prêmio em desenho e no IV Salão de Arte
Contemporânea de Campinas (1968, primeiro prêmio de desenho
juntamente com Antônio Manuel).
Com versatilidade experimentalista, desenvolveu uma pesquisa
sobre as possibilidades da retícula fotográfica, que reproduzia meti-
culosamente à mão. Em 1971, realizou uma pesquisa visual no Car-
diff College of Art, Reino Unido. Após seu retorno ao Brasil em
1979, foi premiado como diretor de arte no Festival de Gramado,
no Fest Rio e no Festival de Cinema de Brasília. Participou como
diretor de arte da produção dos filmes Anaconda, da Columbia Pic-
tures, e Tainá, uma produção de Pedro Rovai.
Durante onze anos estabeleceu uma parceria artística com Lu-
ciano Figueiredo e, no meio artístico carioca, pertenceu ao círculo
de Hélio Oiticica e Lygia Clark. No Amazonas tornou-se o primeiro
coordenador do Centro Cultural Palácio Rio Negro. Em 2000 foi o
curador responsável pela remontagem da Pinacoteca do Estado do
Amazonas na Vila Ninita, hoje transferida para o Palacete Provincial.
Seus desenhos (Ciranda à roda de um tronco, Balada do Bairro do
Céu e Lavadeiras) e bicos de pena (Urubus), elaborados para ilustração
de Frauta de barro, possuem movimento e tendência para a organiza-
ção geométrica e construtiva. São obras de uma fase experimental do
artista. Infelizmente, nem todos foram impressos com boa definição.
O bico de pena que ilustra o poema “Urubus” possui uma du-
biedade: seriam duas ilustrações que foram agrupadas, ou seria ape-
nas uma, com dois planos distintos? Consideremos a segunda possi-
bilidade, em que o artista procura livremente interpretar o poema
“Balada da Rua da Conceição”, que possui várias secções. É possível
90 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
visualizar ali as mangueiras e as casas no segundo plano e o momen-
to em que os urubus rodeiam o corpo sem vida da cabrita Rolimar
no primeiro plano. Com um traço preciso e até agreste, com caráter
geometrizante, a cena explora o contraste, e o cuidado formal ate-
nua a dramaticidade do trecho do poema.
O desenho à técnica bico de pena e nanquim que ilustra Ciranda
à roda de um tronco possui linearidade e tratamento de volumes no
tronco da árvore, elaborada com um geometrismo cezanniano. Ob-
servam-se os papagaios amarrados ao tronco, formas geométricas
da calçada e um segundo plano com contraste, feito com pinceladas
livres de nanquim. Os volumes proporcionam uma sensação de pro-
fundidade. O desenho que ilustra Balada do Bairro do Céu representa
duas figuras com certo movimento e coreografia, voltadas simetri-
camente uma à outra. Os corpos estão nus e são geometrizados,
com um acento expressivo no rosto do lutador em segundo plano e
nas mãos esqueléticas das duas figuras. A estrutura da composição
reflete a tendência experimentalista do artista, que interpreta a dua-
lidade entre sagrado e profano dos personagens na poesia, num tom
agreste, que remete aos traços de oralidade observados no texto
poético por Moura (2016, p. 30).
Ilustrações de Óscar Ramos: à esquerda, o desenho à técnica
bico de pena, Urubus. À direita, Ciranda à roda de um tronco.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 91
Atribui-se que o desenho na página 72, dessa edição de Frauta
de Barro, referencie o poema “Finis Gentis Meae” (Fim da minha gen-
te) por representar uma casa, um portão e gradil de ferro irregular,
com escadas, pedras à vista na calçada, ao lado de uma parede com
arco romano, uma espécie de aqueduto. As ilustrações foram colo-
cadas em páginas pares, porém, nem sempre se referem ao poema
da página ímpar ao lado. Algumas vezes, aludem ao poema da pá-
gina ímpar anterior. Nesse caso, a representação de uma casa nos
moldes da arquitetura revivalista e a presença do arco romano po-
dem remeter ao tema das reminiscências da “glória velha hoje exau-
rida”. Um bom desenho arquitetônico, em que se revelam traços do
desgaste do tempo, muito presente na arquitetura abandonada da
cidade antiga. Para Moura, “[...] o Poeta utiliza-se de um recurso de
uma língua antiga, apontando o mesmo efeito de conservação sobre
a memória dos mortos. Similar a um epitáfio, ele é utilizado não
para esquecer, mas ironicamente para lembrar-se da extinção do
povo” (2016, p. 105).
Ilustrações de Óscar Ramos para os poemas “Balada do Bairro do Céu”
e “Finis Gentis Meae”.
A ilustração da página 77, de autoria de Pietro Lazzari, refere-se
ao poema “Noturno do Bairro dos Tócos”. Pietro Lazzari (1895-
1979) foi um artista italiano, influente escultor, pintor, ilustrador
92 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
e gravurista. Recebeu sua educação formal em Roma e, após o fim
da Primeira Guerra Mundial, Lazzari aderiu ao movimento futurista
italiano e expôs com artistas como Giacomo Balla e Gino Severini.
Ele então se mudou para Paris por vários anos, antes de regressar a
Roma, onde sua primeira exposição individual foi realizada no Tea-
tro dos Independentes. Com a ascensão do fascismo, Lazzari mudou-
-se para Nova York em 1925. No ano seguinte, participou de uma
exposição naquela cidade juntamente com Picasso, Pascin e Modi-
gliani. Durante a era da Grande Depressão, Lazzari tornou-se um
cidadão americano e recebeu encomendas diversas para executar
pinturas murais e esculturas. Ele também participou da exposição
“Arte abstrata na América”, no Whitney Museum. No início dos anos
1940, Pietro Lazzari mudou-se definitivamente para Washington DC.
Durante os anos seguintes Lazzari foi agraciado com o Fullbright
Fellowship e recebeu encomendas importantes (retratos de bronze
do Papa Paulo VI e de Eleanor Roosevelt). Foi membro da Socieda-
de Nacional de Pintores Muralistas e da Sociedade Aquarelista de
Washington. Ele também ensinou técnicas de escultura e desenho
no âmbito universitário em Washington DC. Atualmente suas obras
podem ser encontradas em coleções importantes como o Whitney
Museum of American Art, Art Institute of Chicago, Washington Gal-
lery of Modern Art, Miami Museum of Modern Art, entre outras.2
Desenho de Pietro Lazzari que ilustra o poema
“Noturno do bairro dos Tócos”.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 93
Lazzari realizou vários estudos de cavalos ao longo de sua car-
reira. Nessa ilustração, provavelmente escolhida por Bacellar, figu-
ra um esboço de um cavalo esquálido, com um traço bem defini-
do, realizado numa estética naturalista que remonta à iconografia
animalística do paleolítico. Percebe-se a solidão e abandono nas
“crinas tristes, no anguloso flanco: / memória e angústia fundem-
-se num branco cavalo / manco numa rua torta” (BACELLAR,
1963, p. 75). As memórias do espaço urbano e das ruínas do pas-
sado são testemunhadas por meio da melancolia do eu lírico do
poeta. (MOURA, 2016, p. 108).
A última ilustração do livro é de André Masson, escolhida
para o poema “Anacreôntica” (para solo de ocarina). André Mas-
son nasceu em 1896, em Balagny, na França. Aos doze anos mu-
dou-se com a família para Bruxelas, onde iniciou seus estudos na
Academia de Belas Artes. Em 1912 foi para Paris. Dois anos de-
pois ganhou uma bolsa para estudar a técnica de afresco na Tos-
cana, Itália. Inicialmente, sua obra foi influenciada pelo Cubismo
e por Juan Gris. Lutou na Primeira Guerra Mundial e no ano
seguinte, com a publicação do manifesto, integrou-se ao grupo
dos surrealistas e de André Breton. Em 1933, viajou para a Ingla-
terra e entre 1934 e 1936, morou na Espanha. Nessa época, seus
temas remetem às metamorfoses e ao erotismo. Fez, também, ex-
perimentos com areia e desenhos automáticos. Interessou-se pela
filosofia oriental. Entre 1941 e 1945, durante a Segunda Guerra,
viveu nos Estados Unidos. A presença de surrealistas em Nova
York e o contato com o automatismo psíquico e o expressionismo
abstrato de Pollock foram importantes para seu trabalho. De vol-
ta à França, instalou-se em Aix-en-Provence, entre 1947 e 1956,
período em que se dedicou a pintar paisagens. Morreu em 1987,
em Paris (ARGAN, 1995, p. 621).
A ilustração utilizada em “Ancreôntica” pertence à fase surre-
alista em que o artista realizou experimentos com o desenho auto-
mático, oriundo do automatismo psíquico, técnica que consiste em
libertar as amarras do inconsciente, deixando fluir o traço com o
que vier à mente. André Masson, considerado o mais introspectivo
dentre os surrealistas, tem uma obra que vai além da textualidade
da imagem, pois sua escrita automática torna-se a poética do signo,
vívida e orgânica, como também assinala Argan (1995).
94 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Desenho de André Masson, que ilustra
o poema “Anacreôntica”.
Anacreôntica, comumente definida como uma ode báquica, é
um tipo de poesia criada pelo grego Anacreonte, que cantou nes-
sa forma as alegrias da existência física, do amor, do vinho e da gas-
tronomia. O desenho de Masson evoca o lirismo e a referência mu-
sical. Poderia ser uma ninfa ou musa, que dança e toca uma flauta.
Poderia ser flauta ou aulos, se a referência iconográfica do artista
fosse proveniente das representações musicais nos vasos gregos. En-
tretanto, o desenho automático permite apenas a fruição visual e
motora, similar à fruição rítmica, sonora e sensual dessa ode de
“acento erótico” (CARVALHO, 2005, p. 130).
Considera-se a edição de 1963 de Frauta de barro um arquivo de
artes gráficas, já que muitos originais das obras que a ilustram se
perderam, como é comum com as gravuras e desenhos. Cabe obser-
var ainda que essa edição evidencia o gosto estético e a preferência
artística do poeta Luiz Bacellar, que evoca suas preferências visuais
ao convidar os artistas expoentes do período em Manaus, seus con-
temporâneos do Clube da Madrugada e de seu círculo intelectual,
tais como Andrade, Páscoa e Ramos. A escolha dos desenhos de
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 95
Lazzari e Masson, revelam a preferência do poeta pela arte moder-
na, especificamente pela figuração modernista de traços soltos e
elegantes.
Notas
1
MANAUS abre seu Salão de Arte, 1976.
2
ARCHIVES of American Art, 2017.
Referências
ARCHIVES of American Art, Smithsonian. Pietro Lazzari. Disponível em: https://
www.aaa.si.edu/collections/pietro-lazzari-papers-9747. Último acesso em 20 de
março de 2017.
ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
BACELLAR, Luiz. Frauta de Barro. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1963.
CARVALHO, Mirian de. Crônica de uma leitura de imagens ritmadas em barro e
sopro. In BACELLAR, Luiz. Frauta de Barro. 6. ed. Manaus: Editora Valer/Governo
do Estado do Amazonas/ EDUA/UniNorte, 2005, p.121-134.
DICIONÁRIO dos Símbolos. Tradução: São Paulo: Cultrix, 1997.
HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil: sua história. Trad. de Maria da Penha
Villalobos, Lólio Lourenço de Oliveira e Geraldo Gerson de Souza. 2. ed. São
Paulo: Edusp, 2005.
MANAUS abre o seu Salão de Artes. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 28 de abril
de 1976.
MOURA, Fadul. A coleção dos afetos: cartografia e temporalidades sensíveis em
Frauta de barro de Luiz Bacellar. 123p. Dissertação (Mestrado em Letras e Artes).
Universidade do Estado do Amazonas, Manaus, 2016.
PÁSCOA, Luciane. As artes plásticas no Amazonas: o Clube da Madrugada. Manaus:
Valer, 2011.
______. Álvaro Páscoa: o golpe fundo. Manaus: Edua, 2012.
PEREIRA, Rômulo Nascimento. Interrogando o livro: a arte responde. 151p.
Dissertação (Mestrado em Letras e Artes). Universidade do Estado do Amazonas.
Manaus, 2014.
SANTOS, Armando Viera. A Propósito duma Exposição de Gravuras Modernas.
Vértice, vol. XIII, n. 113, Coimbra, janeiro de 1953, p. 31-37.
SOARES, Manuel Gomes. Primeira Exposição de Gravura Portuguesa. Vértice. Vol.
XVII, n. 166. Coimbra, julho de 1957, p. 410-412.
96 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Ópera no Norte do Brasil no fim
do século XIX
Márcio Leonel Farias Reis Páscoa
N o último quartel do século XIX, Pará e Amazonas auferiram
grandes receitas com o Ciclo da Borracha. Isso possibilitou
enorme desenvolvimento urbano, incluindo incremento arquite-
tônico das capitais de ambos os estados e efetivo avanço social a
partir de planejamento educacional e cultural que seus governos
empreenderam. Os recursos financeiros multiplicavam-se anual-
mente de maneira impressionante, e uma política de ocupação
territorial foi tentada nas pouco habitadas terras amazônicas,
causando grande migração, especialmente do Nordeste brasilei-
ro assolado pela seca.
Entretanto, a vida cultural da Amazônia já possuía marcas sig-
nificativas desde muito antes, quando até mesmo espetáculos líri-
cos puderam ser apreciados durante o século XVIII (ARAGÃO E
LIMA, 1794, p. 2). Mas a vida cultural brasileira sofreu grande lapso
no Período Regencial, e a atividade operística só foi retomada a
partir de 1844, no Rio de Janeiro. A partir disso surgiram notas
diversas sobre a passagem de cantores por diferentes unidades do
país, inclusive Belém, para recitais, concertos e apresentações de
obras líricas em diferentes dimensões e formatos (PÁSCOA, 2006).
Grande parte desses artistas convergia para a capital brasileira e
especialmente para Buenos Aires.
O jovem imperador Pedro II, desejoso de engajar o Brasil em di-
álogo político e diplomático com as primeiras nações do mundo oci-
dental, pensando em fazê-lo numa posição vantajosa, iniciou política
de formação da identidade nacional. Um dos aspectos abordados foi
o apoio ao lírico, com a promoção da ópera em língua portuguesa,
atividade desenvolvida pela Imperial Academia de Música e Ópera
Nacional.
De maneira similar, as províncias mais prósperas também fo-
mentaram a atividade teatral, fosse pela abertura de um teatro pú-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 97
blico, fosse pelo custeio de temporadas artísticas, que amadurece-
riam para o modelo de estações operísticas anuais com assinaturas.
A intelligentsia brasileira acreditava que medidas como esta po-
riam o Brasil em posição elevada no cenário externo. O eminente
botânico Barbosa Rodrigues, diretor do Museu Botânico de Ma-
naus, proferiu epigramática reflexão, certamente partilhada com
outros como ele: “A força moral de uma nação não se determina
só pelo número de seus soldados ou de seus vasos de guerra, pelo
incremento de seu comércio e de sua indústria, mas principalmen-
te pelo gráo a que teem atingido as sciencias, as lettras e as artes”
(BARBOSA RODRIGUES, 1892, p. V).
Com esse ânimo o Teatro da Paz foi erigido em Belém e inaugu-
rado em fevereiro de 1878, impelido por grande demanda pública
por espetáculos de diversos gêneros, inclusive ópera, cujas compa-
nhias artísticas em circulação pelo Brasil, não podiam trabalhar sem
condições estruturais adequadas.
A primeira temporada lírica do novo teatro belenense aconte-
ceu somente em 1880, mas repetiu-se quase anualmente a partir
de então, ocupando o palco do Teatro da Paz sempre durante o se-
gundo semestre, ficando as companhias dramáticas com a primeira
parte do ano.
Após breve lapso para reparos, que envolveu o triênio de 1887
a 1889, o teatro reabriu com aquela que seria a primeira tempo-
rada lírica do período republicano brasileiro, trazendo consigo al-
gumas novidades. Isto incluía duas correntes estéticas majoritárias
na composição repertorial, sendo a primeira constituída de obras
desconhecidas do bel canto e grand opera e a segunda com obras do
nascente verismo ou de tendências transicionais, o que acarretava
um ar de ecletismo ao programa.
Companhias líricas trabalharam continuamente no Teatro da
Paz até 1907, com pequenos lapsos nos períodos de 1897-99 e 1903-
4, assim como no Teatro Amazonas, em Manaus, a partir de 1896, e,
antes disso, no seu antecessor, o Éden-Teatro, a partir de 1890. Essas
companhias tinham quase sempre alguns cantores de fama e noto-
riedade, como forma de atrair o público, aos quais se misturavam
jovens talentos em ascensão na carreira. Com isso os empresários
apoiavam-se sobretudo nas subvenções que os cofres públicos lhe
conferiam.
Assim, Belém e Manaus assistiram a proeminentes artistas como
98 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
os cantores Adele Bianchi Montaldo, Franco Cardinali, Francesco
Bonini, Gino Martinez Patti, Tina Poli Randaccio, Carlo Bulterini,
ou o regente Giorgio Polacco, dentre vários outros célebres nomes
daqueles dias. Aos jovens artistas cabia a missão de sustentar a tem-
porada com grande número de títulos e elevada conta de reprises.
Suas vozes frescas e pujantes precisavam estar associadas a uma boa
imagem para conquistar as simpatias do público. Os novatos na pro-
fissão, engajados nos teatros italianos de porte médio precisavam
seguir as rotas como a que percorria a América do Sul, para alcan-
çar gradativamente os teatros mais importantes de ambos os lados
do Atlântico, ao mesmo tempo em que sua interpretação se tornava
mais fluente e passava a ser moldada pelo contato com empresários
e públicos.
As temporadas do Norte do Brasil compunham-se de uma dúzia
ou até, no máximo, vinte títulos operísticos dispostos em não menos
que um par de meses, mas também não ultrapassando mais que o
dobro disso.
Cada temporada atendia a um equilíbrio estético. Durante o
século XIX, cerca de metade dos títulos era da produção de Verdi,
ficando o restante distribuído entre obras de compositores do bel
canto, como Donizetti, Bellini e Rossini e alguns contemporâneos
de Verdi, como Petrella e Marchetti, geralmente representados pelo
mesmo trabalho.
A partir de 1900, Puccini tomou posição preferencial na consti-
tuição das temporadas de Manaus e Belém. Ao lado dele surgiram
também os nomes de Mascagni, Leoncavallo e Giordano, também
limitados a suas obras mestras.
Mas ainda houve tempo para duas temporadas em língua fran-
cesa, com artistas cujo idioma original era o francês a desempenhar
óperas escritas originalmente nessa língua, fosse de autores fran-
ceses ou mesmo italianos, como o caso de La favorite de Donizetti,
ou realizando traduções de obras renomadas cujo original era em
italiano, como aconteceu com La bohème e Il Guarany, revertendo
o hábito comum de condicionar toda a produção extra-italiana aos
padrões da península. O capolavoro de Puccini é até mais fácil de ex-
plicar, pois foi um sucesso estrondoso de repercussão mundial. Mas
com a obra de Gomes, ainda muito apreciada pelo público brasilei-
ro, especialmente no Norte, onde o compositor falecera em 1896, o
intento causou enorme impacto.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS: CULT UR A, POE SI A, A RT E 99
Desde a primeira temporada oficial do Teatro da Paz que Il
Guarany tomou parte do cartelão, sendo repetida em muitas ocasi-
ões subsequentes. A sua presença e aceitação estimularam não só a
produção como a montagem de obras outras de autores nacionais,
especialmente locais.
Logo em 1881 foi encenada Idália, de Henrique Eulálio Gurjão
(1834-1885), sob a expectativa de vinte anos de espera. Mas, quando
o empresário era o compositor, as coisas podiam ser mais fáceis. Foi
o caso de José Cândido da Gama Malcher (1853-1921), filho de um
bem conhecido médico que governou o Pará em três oportunidades,
durante as décadas de 1870 a 1880. Inicialmente, Gama Malcher foi
estudar Engenharia na Universidade de Lehigh, na Pensilvânia. En-
tretanto, ele deixou os Estados Unidos em 1877 para estudar música
em Milão, retornando a Belém quatro anos mais tarde. Em 1881 ele
já dava concertos ao piano, em associações particulares paraenses,
mas sua presença na cidade certamente se deveu à busca pelo con-
trato para empresariar a estação lírica do ano seguinte no Teatro da
Paz, o que de fato viria a acontecer. Ele deve ter obtido tal privilégio
não somente pela ascendente posição paterna, mas pela promessa
em trazer Carlos Gomes para a estreia local de Salvator Rosa, com
uma orquestra italiana.
A passagem de Gomes por Belém em 1882 foi um caso à parte.
Foi quase impossível para o autor de Il Guarany dirigir sua estreia
local por causa do assédio de inúmeros grupos de admiradores,
fossem músicos, políticos, estudantes, associações laborais, clubes
sociais e artísticos, dentre tantos outros que quebraram sua rotina
de ensaios, obrigando-o aos deveres sociais. Gomes tirou grande
proveito disso. Arrebatou para si a temporada de 1883 do Teatro
da Paz, provocando a quebra de contrato entre a administração pro-
vincial e Gama Malcher. A ideia de Gomes era tornar-se mais co-
nhecido em sua terra natal e a divulgação de seu trabalho no Brasil
começaria por Belém. Mas a intenção do compositor foi malograda
quando a companhia se desfez ainda durante a temporada paraen-
se, que naufragou em problemas diversos, sem que nenhuma outra
obra de Gomes, para além de Il Guarany, fosse encenada.
Malcher, que se sentira traído por Gomes, havia retornado a
Milão. Seu desejo era terminar a composição de sua primeira ópe-
ra, intitulada Bug Jargal, baseada em romance homônimo de Victor
Hugo, o que de fato aconteceu, em 1885 (GUANABARINO, 1891).
100 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Uma ária e uma romanza foram cantados em 1888 durante con-
certo privado para a família real brasileira no Hotel Milan, em Mi-
lão. Mas a estréia absoluta só ocorreu em 1890, quando Malcher
assumiu mais uma vez a temporada do Teatro da Paz.
Depois de Belém, Bug Jargal foi montada no Teatro São José, em
São Paulo, e no Teatro Lírico, no Rio de Janeiro, já no ano de 1891,
na sequência da empresa iniciada no Pará. Possivelmente Gama Mal-
cher desejasse seguir adiante com a carreira de Bug Jargal, mas a
sua companhia artística tomou severo prejuízo financeiro em um
contrato de arrendamento teatral na capital brasileira, tendo como
consequências a falência e, ao seu autor, a perda do manuscrito ori-
ginal da ópera para pagamento de dívidas com o fisco.
Malcher retornou a Belém depois desse episódio, e logo estava
escrevendo a sua segunda ópera, Jara, concluída em 1893 e encena-
da em 1895 durante a época lírica daquele ano do Teatro da Paz.
Desta feita, não houve sequer possibilidade de a obra do autor para-
ense seguir para outros estados brasileiros, pois a empresa desman-
chou-se ao final da temporada belenense.
Ambas as partituras, de Bug Jargal e Jara, sobreviveram até os
nossos dias. A primeira foi incorporada ao acervo da Biblioteca Al-
berto Nepomuceno, que pertence à Escola de Música da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro. Esse arquivo contém tanto a versão
orquestral quanto a pianística, além de partes cavas, pois se trata de
material remanescente da empresa do autor. Quanto a Jara, sobre-
vive unicamente sua partitura orquestral, depositada em 1937 por
descendentes do compositor, conforme vontade deste, no Institu-
to Carlos Gomes, conservatório paraense fundado no século XIX
onde ele foi professor e diretor.
Ambas as óperas de Malcher têm compromisso estético e ide-
ológico com as principais correntes do seu tempo, ainda que numa
interpretação diferente daquilo que se viu no Teatro da Paz. O tra-
balho de Malcher adota valores transicionais, revelando um traço
brasileiro de flexibilidade nos padrões italianos desse produto. Um
tipo de juste milieu muito conhecido na linguagem dramática do
teatro de língua portuguesa do século XIX.
Escrita em italiano, Jara tem características peculiares ao adotar
o idioma nheengatu em certas passagens, o que pode a princípio
fazer crer que se tratasse de um artifício naturalista. Mas, embora o
verismo buscasse a aproximação mais completa da realidade, deve-se
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 101
ressalvar que esse elemento seria, sobretudo, útil no aspecto comu-
nicativo, entre obra e público. Como a assistência do Teatro da Paz
não falava correntemente o nheengatu, deve-se reconhecer que o ex-
pediente assume uma função simbólica de diferenciação de mundos
através das linguagens. Este dualismo não é mera citação.
Malcher compôs muitos dualismos para Bug Jargal. Possivel-
mente ele se viu influenciado pelo famoso poema de Arrigo Boito,
intitulado Dualismo, que foi um divisor de águas da nova corrente
estética em voga durante seus anos de juventude, quando foi estudar
em Milão (KIMBELL, 1991).
O assunto da primeira ópera de Malcher é o mesmo da novela
de Hugo, sobre um episódio da independência do Haiti. Trata de sé-
rios conflitos raciais envolvendo escravos negros de origem africana e
colonos brancos de origem francesa. O assunto do escravagismo era
um debate ardente no Brasil àqueles dias. Malcher e seu libretista,
Vincenzo Valle (1857-1890) adotaram o gênero do melodrama em
quatro atos de maneira dogmática. A estrutura dos atos externos em
Bug Jargal decorre de maneira similar, inversamente proporcional aos
atos internos. Assim, enquanto atos I e IV partem de tensões coletivas
para resoluções individuais, os atos II e III começam em problemas
individuais e expandem-se para conflitos coletivos. Naturalmente, os
atos internos levam ao ápice das tensões que envolvem a todos. Assim,
sem coro ao final do último ato da ópera, os autores encetaram um
final diferente. De fato, ao final da ópera Bug Jargal não aparece mais
e somente se sabe de sua morte por rumores. Ele é lembrado pelos so-
breviventes em cena, através de um dueto final que evoca suas ações
heróicas. Trata-se de um tipo particular de entendimento do verismo,
pois comumente a vida não acaba de maneira espetacular, permane-
cendo na memória daqueles que privaram do convívio.
O dualismo com seus destaques de tensão/resolução assume di-
ferentes maneiras em Bug Jargal: as diferenças sociais e raciais entre
a sociedade branca com organização familiar e a sociedade negra,
mais heterogênea e unida por uma causa ideológica coletiva, a li-
berdade dos escravos negros. Existem também os bons e os maus,
os puros e os impuros, as vozes agudas que representam os heróis
de pureza de intenções, e as vozes graves que se associam a perso-
nagens vilões. E há ainda a divisão igualitária das dramatis personae,
com três brancos e três negros, sendo duas vozes agudas, duas vozes
graves e duas outras em extensão intermédia.
102 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Malcher e Valle criaram um personagem que não foi concebido
por Hugo. A escrava Irma, um papel de meio-soprano, escrito con-
tralto na partitura, mas que por vezes enverga agilidade e extensão
de soprano. Esta é talvez uma das partes transitórias da literatura
operística que atesta o nascimento do soprano dramático verista.
Existe mais neste sentido para explicá-la. Irma tem frases inaca-
badas e em certos momentos canta de modo a farfalhar ou a expres-
sar como que em gritos. Os cantabili que Malcher escreveu para ela
também reservam elementos incomuns aos demais personagens, ao
adotar ritmos típicos do Pará como o lundu marajoara ou o carim-
bó, ambos com sua característica sincopada e seus detalhes harmô-
nicos fora do tradicionalismo acadêmico, insinuando o uso de pen-
tatônicas e outras escalas modais. Essa personagem telúrica torna-
-se, portanto, muito representativa de uma escrita verista nacional.
Malcher usou um tipo especial de dimensão estética para com-
por melodias e motivos. Como admirador de Richard Wagner, ele
escreveu leitmotiven para cada um dos personagens em Bug Jargal.
Mas seu conceito não pode ser confundido com a ideia de temas
recorrentes da ópera italiana que se impunha até então, pela mão
de predecessores. Assim, ele usava da música orquestral para reali-
zar papel de construção de caráter em cada personagem, ou para
descrever situações dinâmicas, como a revolução dos escravos no
terceiro ato, as diferentes paixões humanas em jogo ou os rituais de
sacrifício.
A orquestra também desempenha papel fundamental em Jara,
numa maneira ainda mais metafísica, se for considerada a limitação
de elementos para o jogo dramático. A descrição detalhada e colo-
rida da natureza amazônica e o que ela significa ao homem ama-
zônico ultrapassam a ideia de associação direta entre um som ou
instrumento para uma cena ou passagem. A grande proporção do
grupo orquestral e sua movimentação em grandes blocos, às vezes
quase que de maneira monolítica, com o caminho harmônico sendo
urdido quase que numa percepção em segundo plano, evocam a
imensidão amazônica em Jara. Assim, o tema de intenção verista fica
carregado de forte intenção simbolista.
A lenda da Yara é muito conhecida atualmente, mas no século
XIX ficava restrita ao ambiente campesino. Malcher leu a publicação
pioneira em língua italiana feita pelo geógrafo Ermanno Stradelli. A
visão de profunda compreensão existencial e emotiva do naturalista
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 103
e conde italiano, nascido em Borgotaro, produziu impacto sobre
Malcher. Stradelli viveu décadas pelos rios amazônicos realizando
diversos tipos de trabalho investigativo, incluindo a compilação de
lendas indígenas às quais publicou pela primeira vez. Em Yara ele
usou forma poética, dispondo o assunto em versos de oito silabas.
Eiara, seu nome original, é uma história sobre um ribeirinho
dos rios amazônicos, vivendo semi-isolado dentro da selva, assim
como tantos outros na região. Um dia ele avista uma sedutora mu-
lher em uma atmosfera inesquecível. A partir daí ele se torna ob-
cecado por ela, o que o leva a uma tristeza doentia, sucumbindo
lentamente à paixão que o assoma. Ela o aprisiona facilmente, como
por encantamento, levando-o para as profundezas do rio.
Yara é também a encarnação feminina de Boiassu ou Boiúna,
a monstruosa serpente que vive no coração da terra. Para conter o
avanço dos homens pelos domínios da natureza, Boiassu transforma-
-se na bela mulher que destrói física e espiritualmente os invasores.
Malcher encantou-se por esse argumento. Havia similaridades
com as ninfas, loreleys e outros seres fantásticos e uma força telúrica
associada a elementos de regionalismo, proporcionando poder dra-
mático. Mas a lenda da Yara é uma história fantástica também, com
densidade psicológica e grande dimensão simbólica porque se trata
das encarnações dos estágios da anima no imaginário primitivo.
O libreto foi escrito por Fulvio Folgonio, embora o poema de
Stradelli já estivesse versificado e possuísse grande senso de drama.
Mas a música de Malcher conservou um aspecto fundamental do
poema de Stradelli, reproduzindo a peculiar descrição da região,
com o contraste acentuado entre a fragilidade e a pequenez do ser
humano diante da magnificência e pujança da natureza, que isola o
ser humano sob a dimensão subjugadora da floresta.
A ópera tem somente quatro personagens: Jara e os índios Be-
giucchira, Sacchena e Ubira. Esse último, como Irma em Bug Jargal,
é uma invenção do compositor para favorecer o equilíbrio estético
da peça. Ubira é quem fala nheengatu e sua presença e extensão
vocal de barítono lhe conferem força dramática para amplificar o
medo que o coletivo humano, representado pelo coro, tem do poder
da natureza.
O papel de soprano dramático de Jara não concentra essa repre-
sentação dos poderes da natureza. É a música orquestral que assu-
me esse papel, através de grandes seções de descrição, tornando o
104 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
conjunto de tais elementos num personagem quase que totalmente
metafísico e único, e nesse sentido tem mais responsabilidades do
que a orquestração em Bug Jargal.
Para Jara, Malcher escreveu enorme prelúdio orquestral, inter-
lúdios e grande seção de bailado. A parte de Begiucchira, como a
de Bug Jargal, foi concebida para um tenor spinto. Mas, tal como
Bug Jargal é um herói que sucumbe para dar amor como resposta
a um mundo de conflitos, Begiucchira sucumbe diante de um amor
destrutivo que é fonte de conflitos e não de soluções.
O amor sob o cariz ideológico em Bug Jargal é diferente do
amor primitivo em Jara. Assim, a descoberta do amor pelo perso-
nagem titular em Bug Jargal é uma resposta pela liberdade total e o
sentido que isso pode dar à vida, superando barreiras de imposição
humana, enquanto a descoberta do amor por Begiucchira, em Jara,
é o caminho da perdição pessoal e da falência perante a tentativa
de compreender ou dominar o natural que se revela sobrenatural e,
portanto, anti-humano.
Assim como Bug Jargal vai descobrir o amor fraternal pelas ati-
tudes da heroína Maria, o índio Begiucchira, que somente conhecia
o amor filial por sua mãe, Sacchena, arruína-se quando conhece
Jara. Begiucchira é capturado pelo corrosivo chamado das paixões
que perturbam seu mundo, o mesmo mundo em desequilíbrio que
está representado em Bug Jargal.
A música de Begiucchira é como uma balada constante com
igualdade de formulação rítmica. Nesta ópera, Malcher tentou me-
lodias mais longas do que em Bug Jargal. Mas Jara tem uma estrutu-
ra geral menor com um prólogo, dois atos e poucas cenas. O autor
podia estar sob a influência das recentes e bem-sucedidas produções
de Mascagni e Leoncavallo. No prólogo, por exemplo, não há mais
do que a rica introdução orquestral, o cantabile de Begiucchira e
uma parte de coro ao final.
Enquanto isso, Bug Jargal tem mudanças de tempo, tonalidades
e agógicas em alta profusão, diferenciando-se de Jara que é mais
plana, embora isso não lhe garanta condições dinâmicas estáticas.
Em Bug Jargal, o plano tonal é sempre estabelecido à cabeça
das cenas, mas mudado logo a partir dos primeiros compassos, por
vezes de modo divagatório. Jara, por sua vez, é algo mais monolítica
nesse sentido. Bug Jargal chamou a atenção da crítica em seu tem-
po, inclusive na Itália, quando elementos de outras óperas e autores
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 105
foram apontados na obra do brasileiro. Oscar Guanabarino, inte-
lectual e crítico brasileiro, escrevendo para o jornal carioca O Paiz,
reportou-se a Bug Jargal admitindo que era muito difícil identificar
um estilo específico de composição ou uma escola ou corrente esté-
tica unitária na ópera de Malcher (GUANABARINO, 1891).
Malcher, sem estar sujeito aos mesmos problemas que recaíam
sob os compositores europeus do seu tempo, escreveu Bug Jargal à
luz do ecletismo cultural visível nas capitais da Amazônia através
da arquitetura do final do século XIX até o alvorecer do século XX.
Acaba por ser uma maneira muito particular de ver e trabalhar as
correntes estéticas entre a tradição romântica e o modernismo, uma
transição que adotou a scapigliatura, o wagnerismo e o verismo an-
tecipando pontos do nascente simbolismo, mas permanecendo na
procura de respostas de valor nacional e regional.
Referências
ARAGÃO e LIMA, 1794. Drama recitado no Theatro do Pará ao princípio das óperas e
comédia nele postas pelo doutor juiz presidente da câmara, e vereadores, do ano de 1793, em
aplauso ao fausto nascimento de sua alteza real a serenissima senhora D. Maria Thereza,
princeza da Beira e presumptiva herdeira da coroa de Portugal. Lisboa: Oficina de Simão
Thadeo Ferreira.
BARBOSA RODRIGUES, João. Museu Botânico de Manaus. Manaus, 1892.
GUANABARINO, Oscar. O Paiz. 27 de fevereiro de 1891.
KIMBELL, David. Italian opera. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
PÁSCOA, Márcio. Ópera na Amazônia durante a Época da Borracha, 1880-1907. Coim-
bra: Universidade de Coimbra, 2003. (Tese de doutorado).
PÁSCOA, Márcio. Cronologia Lírica de Belém. Belém: Associação Amigos do Thea-
tro da Paz, Secult, 2006.
SALLES, Vicente. Maestro Gama Malcher, Belém: UFPA, 2005.
STRADELLI, Ermanno. Eiara: leggenda tupi-guarani. Piacenza: Vincenzo Porta,
1885.
VALLE, Vicenzo. Bug-Jargal: melodramma in quattro atti / parole di Vincenzo Valle;
musica del maestro J.C. Gama Malcher. Milano: Gattinoni, Alessandro, 1890.
Fontes Manuscritas
GAMA MALCHER, José Cândido. Bug Jargal. Mellodrama in quatro atti. Manuscrito
da Biblioteca Alberto Nepomuceno da Escola de Música da Universidade Federal
do Rio de Janeiro.
______. Jara. Opera in prologo e due atti. Manuscrito do Instituto Carlos Gomes, de
Belém, Pará.
106 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Muraida: um poema épico amazônico
Marcos Frederico Krüger Aleixo
U m poema, escrito em 1785 na Vila de Ega, atual cidade de Tefé,
constitui o marco inicial da literatura no Amazonas, apesar de,
dois anos antes, um certo Francisco Vitro José da Silveira, militar
português, ter lido, no forte de Tabatinga, dois sonetos: um em ho-
menagem ao Comissário Espanhol, Francisco Requeña; o outro, de
saudação a sua mulher, Maria Luiza.
Os textos de Silveira são circunstanciais e não se legitimam
como marco inicial da literatura de nosso Estado. Já o poema de
Tefé, assinado por outro militar luso, Henrique João Wilkens, em
que pese inúmeros problemas estéticos e ideológicos, possui as ca-
racterísticas que o alçam à condição de pioneiro: é uma obra aca-
bada, expressiva dos conflitos entre brancos e índios na Amazônia.
Esse poema se chama Muraida e trata, como se depreende a
partir do título, dos índios muras, habitantes, até o início da coloni-
zação, do rio Madeira.
Para entender esse poema, faz-se indispensável entender o con-
texto histórico da segunda metade do século XVIII.
Contexto histórico e os primeiros cientistas
No século XVIII, face ao pequeno interesse que a Amazônia
despertava, foram poucos os homens de cultura que a visitaram.
Desses viajantes, destacam-se dois: o astrônomo francês Charles Ma-
rie de la Condamine e o naturalista baiano Alexandre Rodrigues
Ferreira.
La Condamine, na década de 1730, percorreu o vale amazônico
e registrou suas experiências no livro Viagem na América meridional,
descendo o rio das Amazonas, publicado em 1745. Sua viagem pro-
cessou-se durante o ciclo das drogas-do-sertão, mas não teve cunho
comercial, e, sim, científico. Foi o primeiro cientista a chamar a aten-
ção para as propriedades do látex.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 107
A outra obra importante do período é a de Alexandre Rodri-
gues Ferreira, que percorreu a região entre 1783 e 1792. Intitula-se
Viagem filosófica pelas capitanias do Grão-Pará, Rio Negro, Mato Grosso
e Cuiabá. Nessa obra, quase enciclopédica, Alexandre Ferreira des-
creveu tudo o que viu e, mais que isso, desenhou objetos, árvores,
animais, peixes e indígenas. Esse naturalista comentou hábitos e si-
tuações regionais, de acordo com os padrões científicos da época.
Suas opiniões eram em quase tudo semelhantes às opiniões dos via-
jantes do primeiro século da colonização brasileira.
A esse respeito, podemos compará-lo a Pero de Magalhães Gân-
davo, cujos comentários sobre os aspectos geográficos do Brasil, so-
bre as plantas, o modo de vida da colônia, os hábitos e costumes
dos índios refletiam a mentalidade colonizadora de então, fundada
numa concepção religiosa de forte componente medieval. De acor-
do com isso, Gândavo julga a religiosidade dos indígenas de forma
irônica, sobretudo por causa da inexistência – segundo seu enten-
dimento – de um deus. Estranha, inclusive, a falta de ambição dos
nativos, o desinteresse por riquezas:
A vida que buscam é a granjearia de que todos vivem, é à custa
de pouco trabalho, e muito mais descansado que a nossa: por-
que não possuem nenhuma fazenda, nem procuram adquiri-la
como os outros homens, e assim vivem livres de toda a cobi-
ça e desejo desordenado de riquezas, de que as outras nações
não carecem; e tanto que ouro nem prata nem pedras precio-
sas têm entre eles nenhuma valia, nem para seu uso têm ne-
cessidade de nenhuma coisa destas, nem doutras semelhantes.
(MELLO; KRÜGER; TELLES, [2002], p. 15)
Na obra de Alexandre Ferreira, concepções semelhantes podem
ser comprovadas, como a que se vê no excerto abaixo:
A respeito da religião, é verdade que algumas tribos não têm ne-
nhum conhecimento de um ser supremo e nem praticam culto
religioso. Isto naturalmente deve acontecer ao homem constitu-
ído na infância da sociedade, estando em semelhante estado as
potências intelectuais tão débeis, que não deixa distinguir-se de
outros animais. (FERREIRA, 1974, p. 94)
Alexandre Ferreira foi comissionado pela Coroa Portuguesa
108 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
para fazer o levantamento das riquezas e potencialidades do Norte.
Ele defende os padrões oficiais da sociedade portuguesa: a superio-
ridade de uma raça sobre outra e a religião católica como dogma.
É justamente essa a acusação que, sob parâmetros modernos, po-
demos lhe fazer, em que pese o mérito de inventário que possui a
Viagem filosófica.
A monumental obra de Alexandre Ferreira, transportada para
Portugal, teve parte de seu acervo destruído quando da invasão
das tropas napoleônicas. Outra parte considerável foi levada para a
França. Muito do trabalho de Saint-Hilaire deve-se à usurpação feita
às anotações e comentários de Ferreira. Apesar desses méritos, Már-
cio Souza deprecia sua contribuição, conforme se verifica a seguir:
Alexandre Rodrigues Ferreira é a sabedoria científica do mer-
cantilismo em seu imediatismo. O projeto de sua Viagem Filosó-
fica resultaria numa enciclopédia que abrange o todo, dos mi-
nerais às estruturas de produção da sociedade. Enquanto nas
narrativas dos desbravadores a representação era fechada, aqui
a linguagem pode dar vez a um caminho diferente, porque o
interesse é de açambarcar tudo. (SOUZA, 1978, p. 72)
Segundo ainda Márcio Souza, Alexandre Ferreira “colocou em
dia as necessidades dos mercantilistas”, produzindo “um mundo
catalogado, classificado, fixo e predeterminado”, um mundo que
deixaria “de assustar e provocar alucinações” (SOUZA, 1978, p. 73).
O que restou dos manuscritos do naturalista baiano só foi pu-
blicado em 1974, numa iniciativa do Conselho Federal de Cultura.
Compreende dois volumes de textos e mais dois de ilustrações.
Um antecedente do poema Muraida
É muito pequeno o valor literário das primeiras obras poéticas
realizadas no Amazonas: os sonetos de Francisco Vitro José da Sil-
veira e o poema Muraida, de Henrique João Wilkens. Ambas são do
século XVIII, apesar de a última só ter sido publicada, em Lisboa,
no ano de 1819.
Toda a produção conhecida de Francisco Vitro, autor de que
não se conhecem quaisquer dados biográficos, é constituída de ape-
nas dois sonetos. Os textos, divulgados e comentados por Mário
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 109
Ypiranga Monteiro em Fases da literatura amazonense (1977), o foram
com base nos anais da Biblioteca e Arquivo Público do Pará, volume
17, edição de 1905. Tais sonetos, no entanto, não são de fácil enten-
dimento. O primeiro deles, além disso, está incompleto.
Esse militar e poeta que servia em Tabatinga, no extremo oeste
do Amazonas, possuía, tal como Wilkens, o autor da “epopeia” so-
bre os muras, formação ao gosto clássico, mais precisamente, camo-
niano. Dessa maneira, poder-se-ia esperar que ambos os sonetos es-
tivessem rimados e metrificados à perfeição; porém, só o segundo,
o dedicado a Maria Luiza, assim se apresenta. O outro possui métri-
ca irregular, pois alguns versos estão evidentemente truncados, sem
apresentar-se com o padrão clássico do verso decassílabo:
Se para se cantar a heroicidade
Assunto nos dás, brilhante estrela,
Pequena já no luzimento
Torna de novo ao Imineo [sic] Portento.
Resplandecem, acompanham
Mais estrelas de candente porporim
Na flama decantadas desse
Guaiaquil mais exaltados.
Celebre-se com gosto duplicado
A vinda de Maria Luiza,
Que este Orbe pisa.
Em mortal repita a
Portuguesa e Espanhola gente
Viva Espanha e Requeña no Ocidente.
(SILVEIRA apud MONTEIRO, 1977, p. 88)
Além de Mário Ypiranga, também José dos Santos Lins, na Se-
leta literária do Amazonas, registrou os dois áulicos sonetos de Fran-
cisco Vitro:
Os dois sonetos foram escritos por FRANCISCO VITRO JOSÉ
DA SILVEIRA e lidos, pela primeira vez, em Tabatinga, a 15 de
novembro de 1783, em comemoração à chegada, depois de pe-
nosa viagem, acompanhado de sua esposa, D. Maria Luiza, de D.
FRANCISCO REQUEÑA, comissário espanhol e Comandante
110 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
da expedição encarregada de estudar os limites entre Portugal e
Espanha. (LINS, 1966, p. 21)
Márcio Souza, no livro que dedicou à cultura regional, ignora a
produção de Francisco Vitro. Nisso, parece-nos ter o ensaísta inteira
razão, pelo caráter circunstancial dos sonetos.
Muraida, a primeira obra literária no Amazonas
O outro documento literário do século XVII – e objeto do pre-
sente texto – é o poema épico Muraida, a quem podemos atribuir o
mérito de ter dado início à literatura no Amazonas, posto se tratar
de obra completa e não de um texto de mero louvor áulico, como
os de Francisco Vitro, escritos apenas para saudar a expedição cas-
telhana.
Graças à descoberta dos manuscritos dessa obra na Torre do
Tombo, em Portugal, muitas coisas foram esclarecidas sobre ela.
Inicialmente, confirmou-se que foi redigida realmente em língua
portuguesa, não sendo pertinentes as suposições que admitiam ter
sido elaborada em nheengatu. Também graças a essa descoberta,
pôde-se fazer uma edição confiável, em que a ordem do texto e a
sequência dos episódios foi estabelecida com confiança, já que a
edição primeira, de 1819, apresentava-se confusa e com estrofes fora
de ordem.
A respeito da possível escritura em nheengatu, o historiador
Mário Ypiranga Monteiro chegou a considerar que
seria particularmente interessante sabermos que metro e que
disposição estrófica teria usado o autor não o tradutor. Contu-
do, parece [...] poder ser realizada uma tradução sem prejuízo
da primitiva fábrica, desde que seja mantida a relação dos signi-
ficados entre si. Nem ao menos sabemos se o primeiro inventor
escreveu o seu poema em estâncias. (MONTEIRO, 1976, p. 24)
Conhecida a versão verdadeira da Muraida, a partir dos manus-
critos de Wilkens, constatamos que se trata de mais um poema ca-
moniano na forma – tal como a Prosopopeia, de Bento Teixeira, e o
Caramuru, de frei José de Santa Rita Durão. E não só na forma, mas
também nas intenções.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 111
Na forma, pela divisão do poema em cantos, pelo uso da oitava-
-rima e dos decassílabos quase sempre heroicos. Nas intenções, pela
disposição de dar caráter épico a um conflito entre índios e brancos
(ou entre Deus e o Demônio), pelo uso mal disfarçado de algumas
imagens presentes em Os Lusíadas e pela estrutura semelhante à que
Camões deu a sua epopeia, o que repete os poemas épicos do século
XVIII – à exceção de O Uraguai, de Basílio da Gama. Dessa forma, o
texto se inicia com a Proposição, momento em que o poeta anuncia
a matéria de que vai tratar. É o que ocorre na Muraida:
Canto o sucesso fausto inopinado,
Que as faces banha em lágrimas de gosto,
Depois de ver num século passado
Correr só pranto em abatido rosto;
Canto o sucesso, que faz celebrado
Tudo o que a providência tem disposto
Nos impensados meios admiráveis
Que confirmam os fins inescrutáveis.
(WILKENS, 1993, p. 99)
Seguem-se a Invocação (“Invoco aquela Luz”) e a narrativa pro-
priamente dita. Nota-se a ausência do oferecimento no próprio cor-
po do poema. Ele foi feito, na edição princeps de 1834, no frontispí-
cio, pelo padre Cipriano Pereira Alho, responsável pela transcrição
dos manuscritos, a um superior de sua companhia.
O poema, na verdade, trata do conflito entre Deus e Lúcifer
pela posse da alma dos muras. Compõe-se de seis cantos, com um
total de 134 estrofes e 1.072 versos. Dedica-se a mostrar como os
muras foram pacificados e, finalmente, no Epílogo, levados à pia
batismal. Desnecessário dizer que o texto é maniqueísta, sendo os
portugueses os representantes do Bem, enquanto os índios, por
viverem sob o domínio do Anjo do Inferno, são bárbaros e simbo-
lizam o Mal.
Uma exceção é um episódio constante do Canto 3°, estrofes 17
a 22, a que podemos chamar de episódio do Ancião da Tribo. Cal-
cado na passagem do Velho do Restelo (Os Lusíadas, Canto IV), o
velho índio tenta advertir a juventude de sua tribo contra a pregação
do cristianismo, relatando-lhe todas as atrocidades cometidas pelos
brancos contra os de sua raça:
112 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Já não lembra o agravo, a falsidade,
Que contra nós os Brancos maquinaram?
Os Autores não foram da crueldade?
Eles, que aos infelices a ensinaram?
Debaixo de pretextos de Amizade,
Alguns matando, outros maniataram,
Levando-os para um triste Cativeiro,
Sorte a mais infeliz, mal verdadeiro.
Grilhões, Ferros, Algemas, Gargalheira,
Açoutes, Fomes, Desamparo, e Morte,
Da ingratidão foi sempre a derradeira
Retribuição, que teve a nossa sorte.
Desse Madeira a exploração primeira,
Impediu, por ventura, o Muhura forte?
Suas Canoas vimos navegando,
Diz, fomos, por ventura, os maltratando?
Para os alimentar, matalotagem
Buscava nosso Amor, nosso cuidado;
A Tartaruga, o Peixe na viagem
Lhes dávamos, e tudo acompanhado
De frutas, e tributos de homenagem,
Em voluntária oferta, que frustrado
O receio deixasse; a Confiança
Aumentando, firmasse a Aliança.
Que mais fazer podia o Irmão? O Amigo?
Que provas queres mais de falsidade?
São estes entre os quais buscas Abrigo?
É nesta em que te fias amizade?
Ah Muhura incauto! Teme o inimigo
Que tem de falso toda a qualidade.
O que a força não pode; faz destreza,
Valor equivocando co’a Vileza.
(WILKENS, 1993, p. 131 e 133)
Retomando o poema a partir de seu início, vemos que no Canto
I descrevem-se os muras e seus costumes, sem deixar-se de exage-
rar em sua crueldade. Alguns versos remetem-nos mais uma vez a
Camões. Não faltam, também, imagens relativas à mitologia grega.
Mas é surpreendente a sua escassez nesse aspecto, se considerarmos
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 113
que outros poemas epígonos de Camões o possuem em abundância.
Pode-se deduzir que isso se deve à presença forte do Catolicismo.
Do Canto II ao V são relatadas as tentativas de “pacificação” dos
muras. O conflito principal se estabelece quando Deus, por motivos
incognoscíveis, decide que os muras aceitariam o cristianismo. Para
consumar seu intento, envia um Anjo, o qual se transmuda num ín-
dio anteriormente devorado por um jacaré. A aparição ganha foros
de milagre e propicia a aceitação da nova religião, principalmente
entre os jovens. Entretanto, Lúcifer não se conforma, de vez que,
sendo os muras pagãos, ele os tinha sob seu poder. No final, o Bem
triunfa – e nisso não há surpresa.
Como se vê, no poema não há grandes episódios, apesar de
o autor procurar engrandecer aqueles que narra. O aulicismo, po-
rém, não poderia deixar de se fazer presente, como se observa nas
estrofes 12 e 13 do Canto IV:
O ilustre João Pereira, que buscava
Os meios, que ninguém vos molestasse,
Fé tendo, incontrastável esperança,
Que Deus em Vós faria esta mudança.
[...]
Tereis em outro João justo festejo;
Ao vosso bem vereis, como ele atento
No mesmo nome tendo a dignidade
Do precursor preenche a qualidade.
(WILKENS, 1993, p. 141)
O primeiro João acima referido é João Pereira Caldas, governa-
dor da capitania de São José do Rio Negro. O segundo, o tenente-
-coronel João Baptista Martel, comissário na expedição da Quarta
Divisão de Limites da Coroa de Portugal. Esses nomes e patentes
são esclarecidos nas notas existentes na segunda edição, a da Biblio-
teca Nacional, feita por iniciativa de Márcio Souza.
O canto VI, que constitui, evidentemente, o final do poema,
descreve a reconciliação dos muras, a sua chegada à Igreja para o
batismo. Uma técnica das epopeias e especificamente de Camões
não pode deixar de ser notada nesse final, mais precisamente na
estrofe 17: “Era do sexto mês o nono dia” (WILKENS, 1993, p. 167).
114 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Os versos finais apresentam o embarque dos muras, que acei-
taram a palavra divina, segundo o que se depreende do texto. A
história regional chama a esses embarques de descimentos, que se
caracteriza por trazer índios e agrupá-los à força com finalidades
nada humanísticas.
Em sua totalidade, salvo um ou outro verso, a Muraida é lite-
rariamente fraca, como o são os sonetos de Francisco Vitro. Seu
estilo é pesado, sem musicalidade e a linguagem é artificial, cheia
de inversões que a tornam, algumas vezes, de difícil compreensão.
A recepção do poema
Dois historiadores amazonenses detiveram-se com maior aten-
ção sobre o poema de Wilkens: Mário Ypiranga Monteiro e Márcio
Souza, os quais apresentam opiniões válidas e até certo ponto dis-
cordantes. Julgamos de relevância referi-las aqui, para que melhor
sejam situados os problemas que envolvem esse texto fundador de
nossa literatura.
Mário Ypiranga Monteiro tem um certo respeito diante do tex-
to, ao qual considerada como a primeira obra da literatura no Ama-
zonas, ignorando, com razão, os textos de Francisco Vitro. A análise
feita por Monteiro outorga ao poema sobre os muras importância
mais histórica que propriamente literária:
Posto que não se trate de peça considerável, à altura do conflito
índio-conquistador, e sim uma extensão trabalhada sobre o mo-
vimento catequético das reduções e descimentos, ele possui, na
forma por que o conhecemos, excelentes qualidades de fixação
histórica daquele conflito. Ao nível da tentativa de imitação do
fazer poemático escasseiam-lhe contudo a monumentalização
verbal e rítmica assumidas em obras do tipo epopeia, os episó-
dios frontais como os lances de heroísmo, o patético e o palco.
(MONTEIRO, 1976, p. 23)
Em relação à importância histórica, ou seja, o “conflito índio-
-conquistador”, o poema assume a posição principal do colonialis-
mo, que é a de tomar o nativo como um homem de raça inferior. As-
sim ocorreu e, de certa maneira, continua até hoje. Mas não vamos
nos deter nesse aspecto, porque não é função da obra literária espe-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 115
lhar fielmente a realidade histórica. Isso pode acontecer circunstan-
cialmente, mas não é um fundamento estético.
A posição de Márcio Souza em relação ao poema Muraida é
extremamente radical. Examina-o pela ótica da Sociologia da Lite-
ratura, permanecendo numa posição política que desconsidera as
nuances estilísticas. Henrique João Wilkens é chamado de “poeta do
genocídio” e a Muraida é vista como um hino de louvor ao colonia-
lismo português na Amazônia. Assim como Os Lusíadas, ela é vista
como um canto de homenagem à empresa mercantilista portuguesa:
Nos grandes épicos ibéricos, sobretudo em Camões, cada simili-
tude da empresa mercantil lusitana vinha alojar-se no interior da
vasta relação de conjunto da filosofia expansionista da Renascen-
ça. O épico estava sedimentado exatamente na justa necessida-
de de evangelização e semeadura do cristianismo, empresa que
portugueses e espanhóis estavam determinados a realizar nos
mundos descobertos. [...]
Quando João Wilkens escreveu o seu poema, a empresa colonial
já havia afundado suas raízes no mundo descoberto, exigindo
que sua expressão somente se arrebatasse quando submetida
à prova da comparação, isto é, somente quando o próprio fei-
to se concretizasse pela força do poder, pela cultura nacional
ou, radicalmente, pela ordem de El Rei. A Muraida é um desses
momentos de comparação, trata da derrota dos Muhra, ferozes
guerreiros que jamais aceitariam a dominação branca de suas
terras e resistiriam até o século XIX. (SOUZA, 1978, p. 64-5)
Márcio Souza toma uma atitude oposta à de Wilkens: este tra-
ta os muras apenas como bárbaros e pagãos; aquele os chama de
valorosos e indomáveis. Não se pense, porém, que Márcio Souza
seja maniqueísta. É que ele toma o partido dos derrotados, criando
uma nova forma de expor a História, em que pese desconsiderar a
“teoria da consciência possível”, ou seja, sem aceitar que outra não
poderia ser a mentalidade de Wilkens, considerando o meio e o
tempo em que viveu.
Em A expressão amazonense (1978), Souza chama Henrique João
Wilkens de “poeta do genocídio”, assim como estigmatizou Alexan-
dre Ferreira com o título de “cientista do colonialismo”. Para esse
escritor, não há diferença ideológica entre esses autores, já que am-
bos refletem o processo de dominação colonialista:
116 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
A Muraida é muito mais que um devaneio no interior da exten-
são histórica. Em Alexandre Rodrigues Ferreira existe a mesma
forma e ela desempenha o mesmo papel ao nível das investiga-
ções científicas. Wilkens e Ferreira constituem a mesma confi-
guração: a preocupação de ambos volteia sobre a Amazônia, na
mesma superfície de contato. Os mesmos conceitos de tranquila
dominação caem sobre a terra, a mesma pressa em justificar e
afirmar escolhe as palavras. (SOUZA, 1978, p. 69)
Expressão tardia do Classicismo português, a Muraida afasta-se
do modelo camoniano em apenas um aspecto: nos “Argumentos”
que, postos numa única estrofe, antecedem cada canto e funcionam
como um resumo poético do que se vai tratar.
Conclusão
Fraca literariamente, conforme já expusemos, débil expressão
retardatária do gênero épico, num contexto em que as epopeias não
mais se realizariam e cediam lugar a outras formas narrativas, a
Muraida comprova uma característica fundamental da literatura re-
alizada no Amazonas: os períodos literários não se sucedem como
no restante do Brasil e surgem sempre com atraso. Façamos, a esse
respeito, uma comparação com a literatura brasileira.
No Rio de Janeiro e São Paulo (núcleos econômicos principais),
a literatura também começou com uma obra calcada no Classicis-
mo: a Prosopopeia, de Bento Teixeira. Publicada em 1601, quase trin-
ta anos depois de Os Lusíadas, como mais uma obra epígona desse
poema, ela é erroneamente classificada no período barroco. A lite-
ratura no Amazonas e a brasileira começam, portanto, com obras
vinculadas ao modelo clássico.
Essa é, porém, a única semelhança. As diferenças, a partir daí,
acumulam-se. Se 1601 ainda é uma data admissível para o surgimen-
to de uma obra clássica na Colônia, apesar de o Barroco se ter ini-
ciado em Portugal em 1580, parece-nos estranho que o Classicismo
se manifeste no Amazonas nas últimas décadas do século XVIII.
Mas tal foi o que aconteceu e nisso há uma correspondência com o
próprio fenômeno da colonização.
No Brasil, no final do século XVIII, já há movimentos pró-au-
tonomia, como o da Conjuração Mineira. A própria independência
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 117
não se fará tardar. Na Amazônia, a colonização estava ainda, prati-
camente, na primeira fase: a do estabelecimento.
Processo semelhante acontece na literatura. No Brasil, no final
do século XVIII, vigora o Arcadismo e mesmo um autor como To-
más Antônio Gonzaga já apresenta, em sua obra, os primeiros sinais
do Romantismo. O Amazonas está bastante atrasado, ainda com
manifestações literárias ao gosto clássico.
A situação de permanente atraso na literatura do Amazonas foi
sua normalidade por muito tempo, até o advento do Clube da Ma-
drugada. Mas isso, quase dois séculos depois.
Referências
ALEIXO, Marcos Frederico Krüger. Introdução à Poesia no Amazonas: com
apresentação de autores e textos. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro:
UFRJ, 1982.
FERREIRA, Alexandre Rodrigues. Viagem filosófica pelas capitanias do Grão-Pará, Rio
Negro, Mato Grosso e Cuiabá: memórias (sociologia e botânica). [Brasília] Conselho
Federal de Cultura, 1974. 2 v.
LINS, José dos Santos. Seleta literária do Amazonas (com notas biobibliográficas).
Manaus: Governo do Estado do Amazonas, 1966 (Raimundo Monteiro, V).
MELLO, Thiago de; KRÜGER, Marcos Frederico; TELLES, Tenório (org.). Leitura:
do texto ao contexto. Manaus: SEDUC [2002]
MONTEIRO, Mário Ypiranga. Fases da literatura amazonense. Manaus: Universidade
do Amazonas, 1977.
______. Fatos da literatura amazonense. Manaus: Universidade do Amazonas, 1976.
SOUZA, Márcio. A expressão amazonense: do colonialismo ao neocolonialismo. São
Paulo: Alfa-Ômega, 1978.
WILKENS, Henrique João. Muhuraida ou o Triunfo da fé: 1785. Manaus: Biblioteca
Nacional, Universidade Federal do Amazonas, Governo do Estado do Amazonas,
1993.
118 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Verbo, gesta e gênese,
em Quarto de hora
Nicia Petreceli Zucolo
A gesta
“
M eu avô, pai de meu pai, tinha um amigo. Vem daí o papel que
me cabe nesta história transmudada até os ouvidos de minha
mãe que a confiou a mim por adivinhar nos meus olhos sinais segu-
ros de curiosidade por histórias de mistérios e encantamentos” (ME-
DEIROS, 1994, p. 11). Assim são apresentadas narrativa e narrado-
ra de Quarto de hora, texto híbrido entre conto e novela, da escritora
paraense Maria Lúcia Fernandes Medeiros.1
A narradora, assim como a mãe, não é nomeada, e os homens
são citados apenas como origem da narrativa. A história que chega
até a mãe lhe é revelada, e o leitor vai tomando conhecimento ao
mesmo tempo em que acompanha a narradora em uma jornada que
constitui sua própria saga.
O que é proferido por elas mantém-se em tensão e supressão
durante o texto, conservando a força dramática e o mistério, numa
espécie de narrativa sagrada. Mircea Eliade, em seu livro O sagrado
e o profano (2001), apresenta como a realidade da experiência reli-
giosa é um fato para determinadas sociedades arcaicas; e é por essa
trilha que conduzirei a minha leitura das histórias da mãe e da fi-
lha, considerando os espaço e tempo indeterminados da obra como
sagrados, e a comunidade agrária que se depreende na narrativa,
como “arcaica”, conforme denomina Eliade.
Trago a ideia de gesta não só por subverter as canções de gesta
tradicionais, pois aqui quem canta são as mulheres, e a matéria can-
tada não é heroica, mas também pelo seu significado próximo ao
gestar: gerar, engendrar, o que vai rechear-se de sentido conforme o
texto desenvolver-se.
Diz Eliade que “o sagrado é real por excelência [...], revela a
sacralidade absoluta [...], [porque] descreve as irrupções do sagra-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 119
do no mundo” (2001, p. 85-86). O autor ainda afirma que “a expe-
riência do sagrado torna possível a ‘fundação do mundo’: lá onde
o sagrado se manifesta no espaço, o real se revela, o mundo vem à
existência” (2001, p. 54). Se pensarmos o início da narrativa, “meu
avô, pai de meu pai, tinha um amigo” (MEDEIROS, 1994, p. 11),
como organizadora do caos, a “fundação do mundo” se dá pelo
verbo, pela mãe “dizer” o mito, secundada pela filha. A mãe “diz
o mito”, revela-o, funda a verdade, conta como a “cidade branca”2
começou a ser, “mostra como uma realidade veio à existência, seja
ela a realidade total, o cosmos, ou apenas um fragmento” (ELIADE,
2001, p. 86).
Como mencionei, o masculino é a fonte da narrativa que se
transforma até chegar aos ouvidos da mãe que a recebe, aproprian-
do-se, para verbalizar e transformar, já dona da história, sem que
essa origem masculina precise ser reverenciada. A filha continua a
incumbência de reatualizar a narrativa, presentificando o aconteci-
mento mítico.
A narradora diz sobre a mãe: “ela morreu em paz, deixando-me
história de imaginação, iniciando-me em meu reino inexaurível e
tantas vezes insondável. De seu regaço retirei papel dobrado, última
tarefa minha e solitária” (MEDEIROS, 1994, p. 20). A mãe iniciou,
durante seis dias seguidos anteriores à sua morte, a narradora em
funções repletas de mistério. No sétimo dia, morreu, após ter con-
cluído a história sobre a cidade branca que alongava por anos.
Segundo Chevalier e Gheerbrant, o número sete “indica o
sentido de uma mudança depois de um ciclo concluído e de uma
renovação positiva; [...] ele simboliza a totalidade do espaço e a
totalidade do tempo” (2003, p. 826). Esclareço: a trajetória da nar-
radora inicia após a morte da mãe (no sétimo dia) que lhe deixa
o mistério e um reino em que será iniciada após cumprir a sua
última tarefa – solitária.
Transcrevo as palavras da mãe, fixadas no papel em seu regaço:
Quando a lua surgir já estará acesa a fogueira e nessa ordem aqui
determinada, lançarás nela primeiro a alfazema, a canela, as flores de
tamarindo e assim, animada estará a correnteza e a vegetação. Deita
devagar depois as cartas que estão cingidas por fitilho, as orações – as
já fixadas pela tua memória – poderás queimar. Defumarás os escapu-
lários e os bentinhos, as rezas de achamento. Os responsos guardarás
120 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
contigo. Pelo sopro do ar, a fumaça carregará para todos os meridianos
as palavras vigorosas e de maior poder. O vestido que eu costumava
usar nas festas da colheita e cuja beleza teus olhos mudos cobiçavam,
agora já te pertence. Desdobra-o com cuidado para estender na relva a
brancura dele sem que te esqueças dos colares e da flor que eu prendia
na linha da cintura. Então despirás tua veste pagã para que possas
untar por igual cada parte do teu corpo e o farás com óleo almiscarado.
Sete vezes passarás entre o fogo e a fumaça. Depois, buscarás no galho o
fruto, as folhas mais tenras e algumas sementes que estarão nos favos.
Ajuntarás a eles o pote de mel desenterrado por tuas próprias mãos e em
lugar marcado. Na folha do antúrio que cresce úmido à beira d’água
deitarás o mel, o fruto, as folhas novas e as sementes. A correnteza do
rio os levará assim enlaçados, para que percorram as ondulações do
sítio. Ao cabo disso precisarás reavivar o fogo e o farás com o conteúdo
de uma caixinha redonda, minha poção misteriosa, meu cadinho, meu
sal da vida. Tontearás de louca embriaguez e a mata recenderá. Verás
então subir pelos ares o verdadeiro olor ao assomar no céu a Lua plena.
Deixa a descoberto teu ventre e faz ver a ela que, tal fruto deiscente, o
fluxo descerá com o plenilúnio. (MEDEIROS, 1994, p. 21-22 – itáli-
co no original)
Uma iniciação comporta, segundo Eliade (2001, p. 153), uma
tripla revelação: a do sagrado, a da morte e a da sexualidade. Ain-
da, segundo ele, “a iniciação equivale ao amadurecimento espiritual
[...]; o iniciado [é] aquele que conheceu os mistérios, ‘é aquele que
sabe’” (ELIADE, 2001, p. 154).
A lua presente no ritual “valoriza o devir cósmico e reconcilia o
homem com a morte” (ELIADE, 2001, p. 130), porém, antes que ela
surja, a fogueira deverá estar acesa, ao lado do rio:
o fogo, nos ritos iniciáticos de morte e renascimento, associa-
se ao seu princípio antagônico, a água [...]. A purificação pelo
fogo é, portanto, complementar à purificação pela água, tanto
no plano microcósmico (ritos iniciáticos), quanto no plano
macrocósmico (mitos alternados de Dilúvios e Grandes Secas
ou incêndios). (CHEVALIER; GHEERBRANT, 2003, p. 441).
Temos, então, uma jovem que, após seis dias acompanhando
a mãe em tarefas ordenadoras de mundo, no sétimo dia, no dia
da morte da mãe, vai – seguindo instruções escritas pela própria
mãe – cumprir a sétima tarefa: iniciar a sua trajetória, entre acertos
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 121
e descobertas, partir da própria purificação, usando elementos da
natureza presente desde o primeiro dia da iniciação:
[...] um dia, não sei porque pensou na morte e no esquecimento,
pegou-me pela mão e levou-me para fora. E de um lugar mais alto
que a casa, fez-me olhar demoradamente a natureza, as árvores e
a terra escura onde todas as coisas se assentavam. Ajoelhadas as
duas, fez-me fechar os olhos e escavar com as mãos em volta das
plantas pequenas para que, tateando, eu sentisse nos dedos a du-
reza da raiz e de que maneira estavam presas à terra [...], exortou-
-me à obediência e à temperança a fim de cumprir a tarefa dos
sete dias, naquele exato dia iniciada (MEDEIROS, 1994, p. 15).
A fala da narradora pressupõe saber que as instruções da mãe
envolviam uma sétima atividade, singular, já que dizia respeito ao
amadurecimento e à preparação para a continuação da tarefa ma-
terna, a partir do conhecimento das etapas dessa tarefa; enquanto
as outras diziam respeito à natureza e a pessoas – que não elas –,
a sétima envolvia diretamente a narradora como objeto: “dei-me
conta, uma vez mais, de que principiara, a partir daí, meu exercício
de narrar e que, ao olhar para a frente e seguir em direção ao rio,
deixara para trás a casa, meu abecedário e meu tempo de prefação”
(MEDEIROS, 1994, p. 21).
A narradora antes de passar pelo rito de iniciação precisa aban-
donar o mundo que conhecia até então, já que o espaço que antes
dividia com a mãe confundia-se, às vezes, ao próprio corpo: “o quin-
to dia foi passado ao longo do rio em banhos intermináveis, ora meu
corpo, ora o corpo de minha mãe emergindo e submergindo. Havia
momentos em que eu fingia esquecer-me que estávamos sós ali, que
ela era eu, que eu era ela para quem olhasse de longe, nossos vultos”
(MEDEIROS, 1994, p. 18). Essa fusão vai ganhando sentido confor-
me a leitura avança, e a resposta vem no próprio texto:
[...] ao afinal chegarmos a casa para reacender o lume e aquecer
as águas, estava eu tomada de tanta gravidade que acreditei que
era duas, eu e minha mãe, minha mãe dentro de mim, a altura
dela era a minha altura, a força dela era a minha força. Cuidei
nessa noite de todas as tarefas adultas porque assim movia-me,
adulta e ancestral, como se já fosse minha a história dela, a mi-
nha história agora repassada (MEDEIROS, 1994, p. 18).
122 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Entretanto, a sucessão se faz necessária, apesar – e por causa –
da integração. Conforme a passagem acima mostra, a narradora,
instigada pela morte da mãe, parte em busca de um espaço seu, para
contar e recontar a história herdada: segue em direção ao rio e às
suas margens acenderá a fogueira que preparará o ar – “pelo sopro
do ar, a fumaça carregará para todos os meridianos as palavras vi-
gorosas e de maior poder” (MEDEIROS, 1994, p. 21) –, o que lhe
permitirá prosseguir, aí, sim, em jornada, já tendo uma mostra do
sagrado, da morte e da sexualidade, considerando o seu amadureci-
mento físico, marcado pela menstruação.
Devemos perceber que as tarefas iniciáticas estão sendo orques-
tradas e executadas por mulheres. Uma, ancestral, a mãe; outra,
jovem, herdeira do narrar: a filha ocupará o lugar da mãe, pela su-
cessão sagrada feminina, antes, porém, estão unas, na sacralidade
do narrar e na reverência do aprender:
nesse contar e recontar, contou-me da esfera que gira, do cata-
vento, da Lua e da translação e da rotação da Terra. Enquanto
isso, a nossos pés a tempestade gemia, inundando o campo. E
assim, porque continuasse a manter os olhos secos, deitei-lhe o
olhar de tanto orgulho que a reverenciei, ajoelhada, beijando-lhe
a barra do vestido (MEDEIROS, 1994, p. 18).
A marca da assunção está no sangue, na menstruação consa-
grada à lua, após a dança orgiástica em comunhão com a mata, em
uma natureza embriagada por uma poção misteriosa preparada
pela mãe: “tontearás de louca embriaguez e a mata recenderá. Verás
então subir pelos ares o verdadeiro olor ao assomar no céu a Lua
plena. Deixa a descoberto teu ventre e faz ver a ela que, tal fruto
deiscente, o fluxo descerá com o plenilúnio” (MEDEIROS, 1994,
p. 22). A sinestesia contribui para entender a atmosfera do aconte-
cimento que envolve a narradora: após entrar em uma espécie de
transe, a jovem mostraria à Lua (grafada em maiúsculo, entidade
sagrada) que estava pronta (intransitivamente) e o fruto deiscente,
que se abre por si mesmo, o seu sangue menstrual desceria, como
oferenda à Lua.
“Para a consciência moderna, um ato fisiológico [...] não é mais
do que um fenômeno orgânico [...]. [Um] tal ato nunca é simples-
mente fisiológico; é, ou pode tornar-se, um ‘sacramento’, quer dizer,
uma comunhão com o sagrado” (ELIADE, 2001, p. 19), portanto,
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 123
entender o descer da menstruação da jovem, sintonizada com a lua
cheia, é abrir caminho para entender o empoderamento que aconte-
ce a partir de um ato fisiológico – simples – interdito ao masculino,
porém. Estamos diante de uma comunhão natural específica do fe-
minino, a partir do sangue menstrual, que, para além do verbo ges-
tacional, a narrativa mítica da criação do mundo, subverte o mundo
patriarcal por envolver algo impossível a ele.
Pela cultura ocidental, a relação da mulher com a natureza, as
instruções da mãe à filha (“as orações – as já fixadas pela tua memó-
ria – poderás queimar. Defumarás os escapulários e os bentinhos,
as rezas de achamento. Os responsos guardarás contigo. Pelo sopro
do ar, a fumaça carregará para todos os meridianos as palavras vi-
gorosas e de maior poder”), a subversão da hierarquia patriarcal,
revela quem são essas mulheres, mãe e filha, que não são nomeadas
e conduzem a história pelas margens, a sua e a do mundo: essas ino-
minadas são bruxas, são feiticeiras.
A filha herda da mãe o vestido “usado na festa da colheita” com
recomendação de como usá-lo:
[...] desdobra-o com cuidado para estender na relva a brancura
dele sem que te esqueças dos colares e da flor que eu prendia na
linha da cintura. Então despirás tua veste pagã para que possas
untar por igual cada parte do teu corpo e o farás com óleo almis-
carado. Sete vezes passarás entre o fogo e a fumaça (MEDEIROS,
1994, p. 22)
Mais uma vez, o número sete, indicando o ciclo que se abre, a
partir do batismo em fogo e fumaça, com a consagração do corpo,
despido da veste pagã, renascido sob a bênção da Lua, símbolo fe-
minino por essência, da periodicidade e renovação (como o ciclo
eterno dos ritos, presentificando mitos, como o corpo feminino em
ciclo de fecundidade, marcado pelo mênstruo). A fumaça é a ima-
gem das relações entre a terra e o céu, [...] fumo dos sacrifícios ou
de incenso (CHEVALIER; GREENBRANTH, 2003, p. 453), refor-
çando a ideia de que a narradora se inicia feiticeira, passando entre
a causa e a consequência, entre o fogo e a fumaça, como ser sagrado
que está se tornando, deixando para trás vestes – e pele – pagãs.
Para desfazer a visão “senso comum” sobre as feiticeiras, relem-
bro o lugar de fala em questão: Quarto de hora é escrito por uma
mulher, e quem escreve este texto também o é. A questão gênero
124 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
neste texto, sobre esta obra, é fundamental como singularidade de
leitura, por isso é necessária atenção ao
O Verbo
... e sua contextura nesse espaço demarcado.
No dicionário de símbolos de Chevalier e Gheerbrant, o verbete
sobre feiticeiro (feiticeira) inicia citando Jung, afirmando que o psi-
cólogo acreditava que elas são
uma projeção da anima masculina, isto é, do aspecto feminino
primitivo que subsiste no inconsciente do homem: as feiticeiras
materializam essa sombra odienta, da qual não podem libertar-
-se, e se revestem, ao mesmo tempo, de uma força temível; para
as mulheres, a feiticeira é a versão fêmea do bode expiatório, sobre
o qual transferem os elementos obscuros de suas pulsões. [...].
Jung observou que a anima é muitas vezes personificada por uma
feiticeira ou sacerdotisa, pois as mulheres têm mais ligações com
as forças obscuras e os espíritos [...] (2003, p. 419 – destaque no
original),
e o verbete prossegue, com as seguintes expressões: “degrada-
ção voluntária, sob influência da pregação cristã”; “medonho e dia-
bólico”.
Chamo atenção ao modo como a anima é apresentada: “um as-
pecto primitivo”, “sombra odienta” subsistindo no inconsciente do
homem, por certo entendido como o contrário dessa descrição do
feminino. O verbete prossegue afirmando algo que também deve
ser parte do senso comum, já que a conjunção que introduz a ideia
de que “as mulheres têm mais ligações com as forças obscuras e os
espíritos” é um simples “pois”, conjunção explicativa.
O Dicionário de mitos literários organizado por Pierre Brunel traz
a assinatura de vários autores em seus vários verbetes. O verbete so-
bre as feiticeiras que vem assinado por Lydia Gaborit, Yveline Gues-
don e Myriam Boutrolle Caporal inicia com um comentário sobre
Hans Robert Jauss, expoente da estética da recepção, resgatando
a ideia de que o mito corresponderia ao “horizonte de espera” de
uma época, determinado pelo “medo social de determinado presen-
te” (2005, p. 348).
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 125
Dizem as autoras: “especialista na arte das encantações e fórmu-
las mágicas, a feiticeira nasce linda Sibila, Cassandra pagã, e morre
nas fogueiras cristãs, condenadas pelas palavras que foram a sua
arma secreta” (2005, p. 348); elas ainda acrescentam que Mircea
Eliade traça uma linha, segundo a qual a personagem da feiticeira
possui essencialmente uma função de instauradora do mito.
Ela é, sem sombra de dúvida, mulher, dotada de um corpo jo-
vem e sexuado [...]. Seu poder é total, ela preside vida e morte,
vela pelas colheitas, governa os elementos e também os homens
nas sociedades tipo matriarcal. As sociedades patriarcais que es-
tão por vir, a farão pagar caro por esta plenitude [...]. A figura
positiva, o corpo sexuado, equilibrado, vão aos poucos fragmen-
tando-se e transformando-se em valores negativos sob a pressão
dos homens e das religiões [...].
Manifesta-se [...] nos séculos XVI e XVII, uma grande repressão
sexual [...], que faz lembrar a ‘velha desconfiança do clero com
relação às filhas de Eva’. [...]
A figura do Diabo não fazia parte do mito da feiticeira; foi um
doloroso enxerto feito na feiticeira numa perspectiva inversa à
da virgem Maria: a mulher-mãe sem sexo por oposição ao prazer
e o corpo da mulher sexuada que atrai e repugna os homens. [...]
No decorrer do seu périplo, a feiticeira envelheceu, passando
da intemporal figura da moça que era queimada na fogueira à
da velha curandeira da aldeia. Ela reencontra não somente as
práticas de um saber feminino tornado tabu, mas também o mis-
terioso poder ligado ao ‘dito’ e ao ‘não-dito’ (2005, p. 348-352).
Inicialmente, a comparação entre os dois verbetes mostra a
perspectiva positiva de um deles sobre a figura das bruxas e a nega-
tiva de outro: não por acaso (reafirmo o lugar de fala mencionado),
a perspectiva positiva foi apresentada pelas três autoras e o outro
verbete, além de caracterizar bruxas de forma pejorativa, sequer
traz a palavra feiticeira ou bruxa; a entrada é “feiticeiro (feiticeira)”.
Para Peter Stearns, “por volta do quarto milênio a.c., [...] as civi-
lizações, de uma forma geral aprofundaram o patriarcado [...] [unin-
do] as questões de gênero com aspectos de sua estrutura cultural e
institucional” (2007, p. 27). Ele prossegue, falando que “à medida
que as civilizações se desenvolveram [...], os sistemas de gênero [...]
foram tomando forma [...]. O deslocamento da caça e coleta para
a agricultura pôs fim gradualmente a um sistema de considerável
126 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
igualdade entre homens e mulheres” (2007, p. 31). Com o aumento
da natalidade, pelo fim do nomadismo e relativa segurança quan-
to aos suprimentos fornecidos pela agricultura, as mulheres foram
obrigadas a dedicar mais tempo ao cuidado das crianças, futura
mão de obra, permitindo aos homens assumirem a maior parte das
funções agrícolas. Nessas sociedades patriarcais, “os homens eram
considerados criaturas superiores” (STEARNS, 2007, p. 32).
R. Howard Bloch, em seu Misoginia medieval e a invenção do amor
romântico ocidental, traça uma trajetória da misoginia, mostrando
como “o reconhecimento de uma universalidade discursiva promove
uma cegueira que naturaliza” (1995, p. 10). O autor mostra como os
escritores durante a Idade Média difundiram a noção de inferiorida-
de feminina versus superioridade masculina, a partir de Adão, “ho-
mem, indiviso, assexual, puro espírito, enquanto a mulher permane-
ce um ser dividido, cujo corpo não reflete a realidade da alma” (1995,
p. 11), porta para o demônio, pai das bruxas: “a imagem de Deus
está no homem (sexo masculino), ser criado único, fonte de todos os
outros seres humanos, tendo recebido de Deus o poder de governar
em seu lugar porque ele é a imagem de um Deus único” (1995, p. 35-
36), cabendo às mulheres o espaço de outro; como alguém que não
tinha gerência sobre si – e não era de Deus – obviamente estava sob
comando do contrário. Bloch mostra como a “ciência” comprova a
inferioridade feminina, citando Lombroso: “encontra-se outra prova
da inferioridade da mente feminina em seu poder inferior de abstra-
ção, e em seu grande preciosismo [...]. Quanto mais se impele uma
mulher à abstração, mais propensa à neurose ela se torna” (BLOCH,
1995, p. 37). Doutores da igreja são citados, comprovando a inferiori-
dade feminina e o direito natural do homem sobre ela, justificando o
domínio masculino em nome da vantagem e benefício que isso seria
para as mulheres (já que o poder de discernimento racional é por
natureza mais forte no homem, como continua Bloch).
Essa questão da superioridade masculina “natural” revela um
problema: as mulheres, então, nascidas da costela torta de Adão,
não descendentes diretas de Deus, seriam “naturalmente” astucio-
sas, menos alma e mais corpo, despertando – por isso – medo de
sua corporalidade, o que não seria necessariamente o medo da sen-
sualidade (apenas), “mas uma desconfiança dos sentidos – medo da
mulher como corpo” (BLOCH, 1995, p. 40), já que Deus – e o ho-
mem – eram puro espírito. O cristianismo na Idade Média desenvol-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 127
veu a estratégia de atrair para controlar as mulheres: “a mensagem
às mulheres passada pelo cristianismo é: você é simultaneamente a
‘esposa de Cristo’ e ‘o portão do diabo’” (BLOCH, 1995, p. 113). Se-
gundo o autor, “a ideia da mulher como simultaneamente sedutora
e redentora não é nenhuma contradição, mas uma arma ideológica
poderosa” (1995, p. 114), que retirou a mulher do espaço externo
(público), consolidando algo iniciado há séculos, com o surgimento
das sociedades agrícolas patriarcais e – na Idade Média – o surgi-
mento da medicina como ciência institucionalizada.
Rose Marie Muraro, em sua introdução ao Malleus maleficarum,
afirma que
há consenso entre os antropólogos de que os primeiros humanos
a descobrir os ciclos da natureza foram as mulheres, porque
podiam compará-los com o ciclo do próprio corpo. Mulheres
também devem ter sido as primeiras plantadoras e as primei-
ras ceramistas, mas foram os homens que, a partir da invenção
do arado, sistematizaram as atividades agrícolas, iniciando uma
nova era, a era agrária, e com ela a história em que vivemos hoje.
(2015, p. 11)
A mulher possuía, então, o “poder biológico”, e ao homem cou-
be desenvolver o poder cultural à medida que a tecnologia foi avan-
çando (MURARO, 2015, p. 10).
“Na alta Idade Média, a igreja alcança o período de maior po-
der [...] e é no período que vai do fim do século XIV até meados do
século XVIII que aconteceu [...] a repressão sistemática do femini-
no” (MURARO, 2015, p. 17), a caça às bruxas. Segundo a autora,
as mulheres eram as curandeiras, parteiras, desde a mais remota
antiguidade; dominavam um saber que era passado de geração a
geração, o cultivo e o uso de ervas o que lhes dava a condição de
“médicas populares”, devido à pobreza e à falta de assistência das
aldeias. Entretanto, com o advento da figura do “médico”, formado
por universidade, elas representavam uma ameaça a esse saber insti-
tucionalizado. Além disso,
formavam organizações pontuais (comunidades) que, ao se jun-
tarem [...] trocavam entre si os segredos da cura do corpo e,
muitas vezes, da alma. Mais tarde, essas mulheres vieram a par-
ticipar das revoltas camponesas que precederam a centralização
128 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
dos feudos, os quais, posteriormente, dariam origem às futuras
nações (MURARO, 2015, p. 18).
Essa deambulação histórica é para desfazer a ideia de que bru-
xas são seres nefastos. Espera-se que esse mínimo resgate histórico
leve à percepção de que o poder de criar, ordenar e manter o mun-
do, em Quarto de hora, cabe às feiticeiras narradoras (enunciadoras
do verbo, detentoras da voz, ordenadoras do mundo), mãe, filha
e uma outra que é encontrada pela narradora em seu trajeto, que
completará as lacunas da narrativa sobre a cidade branca.
No início deste texto, falei que a história só foi finalizada quan-
do a mãe sentiu a proximidade da morte, marcando a necessidade
de que a tradição da narrativa – e a ordem do mundo – não se fin-
dasse com ela, que o verbo continuasse palavra de sabedoria, criação,
não apenas indicação de ação.
[Minha mãe] demorava-se com prazer desmedido na amplidão
dos espaços [...], para contar depois que os ruídos e as vozes, de
natural tão baixas, alteavam-se em cânticos tão maviosos e era
esse canto que permeava a venda e as trocas.
Moviam-se cantando que era a forma de comunicar uns aos ou-
tros que o desejo havia sido atendido, que havia pão e hortaliças
e que continuavam todos naturalmente felizes. [...]
O mercado lá no alto, as portas abertas, as pessoas, o cântico
elevando-se pelas alturas provocavam em mim imagens de ove-
lhas sacrificadas, sangue a manchar o chão do mercado. [...] O
sangue das ovelhas que eu inventava corria rubro a desenhar no
chão estranhas formas.
O regresso para as casas era feito não mais silenciosamente, ela
dizia. Os cânticos elevavam-se à medida que o caminho encur-
tava. Tochas acesas, a cidade enchia-se de sombras e iam todos
lavar os corpos no rio, água tépida àquela hora da noite.
Essa parte da história eu sorvia com tal prazer que minha mãe
adivinhava-me e aninhando-me em seu regaço adocicava de tal
modo a voz e repetia sem cansaço, o rumor das águas, os corpos
emergindo e submergindo, os cabelos que eu imaginava crinas,
secando ao vento da noite. [...]
Assim, por muitos e muitos anos, acreditei ser esse o final da
história [...].
A cada colheita, a cada banho de rio narrado por ela, eu ia aos
poucos restituindo sinais outros, murmúrios, gemidos e alguns
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 129
soluços que, embora abafados pela alegria dos cânticos, eu acre-
ditava ouvir. As vozes levavam os cânticos para o alto e os solu-
ços baixavam, penetrando a água, desfazendo-se em limo. [...]
A despeito da convicção contida nas palavras dela [de que todos
retornavam às suas casas], imaginava eu que nem todos retornas-
sem para suas casas e começava a ver espectros, alguns que fica-
vam suspensos na flor das águas (MEDEIROS, 1994, p. 13-14).
Desse modo, os leitores entram em contato com a narrativa
cuja responsabilidade de perpetuação é dessas mulheres, respon-
sáveis pela
Gênese
de um mundo sagrado, a partir do verbo gerador.
Assim como a jovem narradora não tem a imagem completa da
cidade, os leitores também vamos completando a história como um
mosaico, cujas peças estão espalhadas ao longo da narrativa:
A cada colheita, quando os cânticos prenunciavam a alegria, os se-
nhores vigiavam suas senhoras e se de algumas não se visse mover os
lábios, adivinhava-se que haviam sido tocadas pelo ímpeto da emoção,
que desejavam bem mais além da colheita, que não pertenciam mais
àquela legião exata e que naquela cidade branca à beira de um rio...
(MEDEIROS, 1994, p. 23 - itálico no original)
Daí os gemidos e soluços abafados pelos cânticos, ruídos que eu
escutara sem clarins anunciadores que melhor conduzissem a
história narrada por minha mãe. Só os gemidos e soluços, sons
amargos (MEDEIROS, 1994, p. 24).
Com esses fragmentos, porém, ainda não temos a narrativa com-
pleta. A narrativa inteira-se quando a narradora se faz, novamente,
ouvinte, completando a trama universal (mítica) na qual todas as
pessoas compõem-se em uma peça. Nesse excerto, há claramente
a opressão dos “senhores” sobre suas “senhoras”, vigiadas a cada
prenúncio de alegria.
Após ter cumprido a sétima tarefa, a narradora inicia uma jor-
nada3 com várias missões que – de certa forma – completam o seu
“nascimento”, iniciado às margens do rio: “sem começo, fim e in-
130 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
termédio, via-me nascer naquele instante sem nascituro querer ser.
Era como render-se a um encanto, apaziguar-se, depor as armas”
(MEDEIROS, 1994, p. 40). Do nascimento ao amadurecimento, a
jornada solitária, enfim, desfaz a solidão sentida desde a morte da
mãe: “pus-me a caminho, eu viajante de mim mesma não mais tão
solitária porque ouvira vozes trançadas no tempo” (MEDEIROS,
1994, p. 40). Para entender o significado dessas “vozes trançadas no
tempo”, é necessário acompanhar a narradora até o bosque onde
chega, no que supõe o fim de sua jornada.
A narradora vê-se em um
lugar varado pela claridade. Umbroso bosque [...], arvoredo a
espalhar-se e alargar resplêndido por vastidão sem fronteiras
[...] visões [...] assombreadas [...]. Mais adiante um páramo tran-
quilo em meio ao bosque e, em grande roda aberta, grupo de
homens, mulheres com crianças [...] a ouvir histórias saídas de
uma voz em cantochão, narrativa a escorrer sobre a terra (ME-
DEIROS, 1994, p. 41).
Nesse bosque, após solitária jornada que lhe possibilita o ama-
durecimento, a narradora torna-se perceptiva à beleza, à tranquili-
dade, a ponto de perceber outras vozes e outro modo de narrar: a
narrativa escorrendo sobre a terra, emanada de uma voz “em canto-
chão” remete a uma espécie de liturgia encantatória, considerando
cantochão como sinônimo de canto gregoriano, canto apoiado no
ritmo da palavra na frase.
A narrativa que cativa o grupo de pessoas e surpreende a nar-
radora é a seguinte:
... e vieram os ceifeiros que foi o nome pelo qual minha mãe os nomeou,
fazendo o sinal da cruz diante de mim. E minha mãe gesticulava e gati-
monhava para melhor reiterar a expressão deles de ódio, contrapartida
à exclusão que sofreram de suas mulheres soltas em banho de rio, soltas
em banho de solidão compartilhada.
E não falaram elas, e não disseram palavras porque, surpreendidas,
encenaram cenas de mentiras, gestos de crianças quando pilhadas em
malfeitos. E o ódio deles aflorava pelas barbas negras, pelos pomos-de-
-adão a subir e descer, eles engolindo em seco, a quase furar a garganta,
pelos fios dos bigodes a acompanhar a boca em torcedura.
E contou minha mãe que foi só um momento, o pesado momento em que
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 131
os punhais foram expostos e apontados e que, estando elas em banho e
soltos os cabelos, eles os cortaram mas, não satisfeitos, os tosaram indo
além, feixes e feixes de madeixas crescendo nas abas do rio, em horto
transformado.
E assegurou minha mãe que o ajoelhar foi imposto e nem partiu delas
o implorar, que antes resistiram ao dobrar dos joelhos e do corpo mas
que foi imposto o ajoelhar, o corpo retorcido em gestos de perdão que
não foi pedido.
E que assim nuas e transidas pelo frio e sem cabelos pareciam meninos
assustados. E aí foi o final quando eles enterraram os punhais em tenro
peito, os ais e os desaires.
E era esse o momento em que minha mãe animava a narrativa porque
erguia-se e percorria distância de uns dez metros, mãos para trás do cor-
po, olhar preso ao chão ou aos meus olhos, para um e outro lado, para a
esquerda e para a direita, doloroso escutar, angustiante deambulação, a
história se tingindo de sangue na hora dos punhais. Havia alguns que
avançavam as mãos para as nucas e estrangulavam, inovação do mar-
tírio. Havia outros a uivar como cães, movidos por êxtase demoníaco a
cobrir de requintes o derradeiro golpe.
Insídia, armadilha, traição eram palavras de sangue vomitadas por
minha mãe e eu aprendi.
Feridas, as mulheres atiravam-se para os braços do rio e iam ao encalço
delas os matadores, fatídico mergulhar em cima dos corpos inânimes
para perpetuar a imolação. E assim os ceifeiros enlutavam o rio, aver-
melhando-o. As mulheres o escolhiam como leito de vida e de morte e por
isso os homens choravam a sua exclusão.
Minha mãe estancava, mirava com seus antigos olhos para depois pros-
seguir... (MEDEIROS, 1994, p. 41-42 – itálico no original)
A jovem reconheceu a história sobre a cidade branca que sua
mãe contava. Como afirmei, os leitores vamos tomando conheci-
mento dos eventos ocorridos na cidade conforme a história vai se
revelando para a narradora.
Desde o início, a cidade branca vai-se apresentando como uma
cidade silenciosa e perigosa: moradores reservados e recolhidos, as
mulheres encerradas no interior das casas, vivendo como monjas,
sem desejo... porém, em tempo de colheita, os cânticos e a alegria
das mulheres descendo do mercado estilhaça a sisudez do local e
a autoridade dos homens, nomeados pela mãe da outra narradora
como ceifeiros. A polissemia da palavra antecipa o ato: as mulheres
violam o interdito e são assassinadas, ou, dizendo de outro modo,
132 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
sacrificadas, considerando o apresentado à página 13, quando a nar-
radora imagina o sangue “das ovelhas” correr pelo chão, numa clara
alusão a sacrifício, ainda mais quando completamos as lacunas, en-
trecruzando as histórias.
Esses homens montam uma espécie de ritual de humilhação e
sacrifício, ao cortarem os cabelos das mulheres, colocarem-nas ajoe-
lhadas nuas para, enfim, apunhalarem-nas, estrangularem-nas, ino-
varem no martírio.
Este Quarto de hora, entretanto, é uma história de mulheres,
e elas, na narrativa das narradoras, escolhem onde morrer: “feri-
das, as mulheres atiravam-se para os braços do rio [...]. As mulhe-
res o escolhiam como leito de vida e morte e por isso os homens
choravam sua exclusão”. Antes disso, a informação do ódio que
os homens sentiram, “contrapartida à exclusão que sofreram de
suas mulheres soltas em banho de rio, soltas em banho de solidão
compartilhada”. O distanciamento entre os senhores e as mulheres
aproximaram as mulheres, sempre bruxas ao olhar hegemônico
masculino, vencendo entre elas o interdito do prazer, causando
mais ódio ainda aos homens que desse mundo não só não compar-
tilhavam, como não cabiam ou entendiam. A escolha, mesmo que
na morte, coube às mulheres, história perpetuada na voz de outras
mulheres, mães e filhas.
A simbologia do rio é importante de ser mencionada. Segundo
Chevalier e Gheerbrant, “o curso das águas é a corrente da vida e
da morte [...]” (2003, p. 780), também simbolizando fertilidade e
renovação. Nessa narrativa, morte não é, necessariamente, fim... e,
para essas mulheres da cidade branca, a morte, nos braços do rio, é
libertação e insubordinação.
A narradora que acompanhamos desde o início reconhece a
história que herdou de sua mãe. Aproxima-se da roda para também
ouvir o que seduz a multidão, “para ouvir de um ser vivente naquele
bosque, as mais antigas histórias, algumas que de tão compridas
atravessavam três dias e três noites” (MEDEIROS, 1994, p. 42).
Estamos diante de uma mesma história, narrada por mulheres
diferentes, herdadas de mães diferentes, que se completam.
Destaco um detalhe: a primeira narradora vagou, em jornada,
alcançando o seu amadurecimento, a ponto de permitir-se escutar.
Ela não narrou nada, ainda. Sobre a outra narradora, “ser vivente
daquele bosque”, não sabemos a sua jornada. Inferimos, apenas...
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 133
Presumo que a narradora do bosque já encontrou seu lugar, ten-
do ela também passado por sua iniciação; também se desvinculado
de sua mãe, deixando para trás o seu abecedário, o seu “tempo de
prefação” e, pronta, pôs-se a narrar, para pessoas que se organiza-
ram em roda, em círculo.
A disposição circular das pessoas me leva a entender, a partir
de Chevalier e Gheerbrant, o círculo como um símbolo do tempo,
“sucessão contínua e invariável de instantes todos idênticos uns aos
outros” (2003, p. 250). Aqui, resgato a ideia inicial de um mundo
organizado pelas narrativas ritualizadas, fora do tempo cronológi-
co, por mulheres que não se conhecem, mas que mantêm o mundo
em ordem por dizerem o mito. Essas feiticeiras mantêm o mundo
conhecido em ordem, ou mantêm a ordem do mundo conhecido, ao
verbalizarem gênese e telos, num ciclo ordenador.
As duas vozes sucedem-se:
[...] acheguei-me e ajoelhei-me. Ao meu lado, mulheres com os
filhos ao peito, homens cheirando a fumo de folhas, o bosque
exalava. E então, entrando pausado pelos meus ouvidos, chegou-
-me a voz em narrativa.
Meu avô, pai do meu pai, tinha um amigo... Pus-me em retirada
devagar ao tempo de escutar, em me distanciando, a voz em
cantochão, abrindo caminho em meio ao arvoredo, palavras
d’antanho a desembaraçar meu rumo e me lançar...
Esperar o final é querer a história, é merecê-la pelo direito de espera, é
possuir infinitamente, ad aeternum... (MEDEIROS, 1994, p. 43 –
itálico no original).
Ao retirar-se devagar, é como se a narradora entendesse, en-
fim, seu papel no mundo, a partir das “palavras d’antanho” que, em
agência, “abrem caminho em meio ao arvoredo”, desembaraçando-
-lhe o rumo. Digo de outro modo: ao ouvir a mesma história que sua
mãe contava, ao ouvir o mito novamente dito, seu mundo se reorga-
niza, o tempo se reconstitui e ela reencontra o fio de sua existência,
partindo em busca de um espaço para si.
“O tempo sagrado é por sua própria natureza reversível, no sen-
tido em que é [...] um tempo mítico primordial tornado presente”
(ELIADE, 2001, p. 63). Mircea Eliade volta à discussão, pelo fato
de eu entender quarto de hora como um intervalo de tempo inde-
terminado, antes ou depois de qualquer hora, “o tempo sagrado se
134 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
apresenta sob o aspecto paradoxal de um tempo circular, reversí-
vel e recuperável, espécie de eterno presente mítico” (2001, p. 66):
vejam-se as palavras iniciais e finais do texto, “meu avô, pai do meu
pai tinha um amigo...” e o encerramento das narrativas, “é possuir
infinitamente, ad aeternum...”. A narrativa é circular, o início é o fim,
a narradora pode ser sua mãe, a mulher da floresta pode ser sua
filha... não há uma subordinação temporal que não a sucessão de
eventos na jornada da narradora.
Feiticeiras subversivas da ordem; verbo, gesta e gênese femini-
nas ordenando e equilibrando o caos, numa narrativa aquém do
tempo, primordial, substantiva e insurrecta.
Notas
1
Maria Lúcia nasceu na cidade de Bragança em 1942 e morou em Belém, a partir
de 1953, graduando-se em Letras pela UFPA, para onde voltou como professora,
anos depois. Morreu em 2005, em consequência de grave doença degenerativa que
lhe paralisou os movimentos. Em 1988, publicou sua primeira coletânea de contos,
Zeus ou A menina e os óculos; em 1990, uma nova coletânea, Velas por quem, quatro
anos depois, Quarto de hora; no ano de 2000, foi a vez de Horizonte silencioso. Seu
último livro de contos, Céu caótico, foi publicado postumamente, em 2005. <http://
profdariobenedito.blogspot.com.br/2012/09/saudades-de-maria-lucia-medeiros.
html>.
2
“De tudo somente sei que se passou há muito tempo, numa cidade toda branca à
beira de um rio não tão largo mas de verdade tão profundo e de águas muito es-
curas. [...] Os senhores zelavam por suas senhoras e as senhoras retribuíam o zelo
e proteção, encerrando-se no interior das casas a educar os filhos, ensinando-lhes,
além de hábitos saudáveis, línguas mortas. [...] As mulheres casadas viviam decerto
como monjas e se alguém desejava, desejava sem ímpetos, desejava que as chuvas
não tardassem tanto para que a colheita fosse feita em tempo exato e nada se ante-
cipasse ou sofresse adiamento. Desejavam que todos os dias fossem calmos, que as
noites fossem frescas, que as vidas fossem ordenadas” (MEDEIROS, 1994, p. 13). A
mãe apresenta a cidade, revelando a atmosfera opressiva, já pelo inicial entre o rio
de águas escuras e a cor branca, pelo controle dos senhores sobre suas senhoras
(inclusive no que tange ao desejo delas). A cidade, a opressão e o controle serão
mencionados ao longo do texto, revestindo esta passagem de maior significado.
3
Essa jornada iniciática apresenta outros símbolos, constitui-se em outra narrativa.
Para conhecimento, digo apenas que vimos a jovem descer aos infernos, voltar,
montar em um cavalo de fogo – e queimar-se gravemente em consequência disso –,
montar em um cavalo alado, que a leva à presença de uma velha, em uma cabana
com imagens de santos católicos (muito bem marcados), encontrar três imagens
masculinas equivalentes às moiras; ver um menino criando vida a partir da água...
Pela complexidade de que este outro aspecto se reveste, a jornada não será estuda-
da neste texto.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 135
Referências
BLOCH, R. Howard. Misoginia medieval e a invenção do amor romântico ocidental.
Trad. Claudia Moraes. Rio de Janeiro: Editora 34, 1995.
CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. Trad. Vera Lúcia
da Costa e Silva [et al]. 18.ed. São Paulo: José Olympio, 2003.
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. Trad. Rogério Fernandes. São Paulo: Martins
Fontes, 2001.
GABORIT, Lydia; GUESDON, Yveline; CAPORAL, Myriam B. As feiticeiras. In:
BRUNEL, Pierre. Dicionário de mitos literários. Trad. Carlos Sussekind [et al.]. 4.ed.
Rio de Janeiro: José Olympio, 2005.
MEDEIROS, Maria Lúcia. Quarto de hora. Belém: CEJUP, 1994.
MURARO, Rose Marie. Introdução. In: KRAMER, Heinrich; SPRENGER, James.
Malleus maleficarum. Trad. Paulo Fróes. Rio de Janeiro: Edições BestBolso, 2015.
RODRIGUES, Dario Benedito. Saudades de Maria Lúcia Medeiros. Disponível em
<http://profdariobenedito.blogspot.com.br/2012/09/saudades-de-maria-lucia-
medeiros.html>. Acesso em 20 fev 2016.
STEARNS, Peter. História das relações de gênero. Trad. Mirna Pinsky. São Paulo:
Contexto, 2007.
136 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Academia do Peixe Frito e as alvoradas
do século XX, diálogos e intersecções
modernistas: Literatura e jornalismo
na Amazônia1
Paulo Nunes
Vânia Torres Costa
1. Considerações iniciais
H ouve um tempo em que as desconfianças sobre o caráter e,
sobretudo, a “utilidade” da literatura era uma constante. Para
que serve, afinal, o texto literário? Jonathan Culler esclarece-nos
algo que remete à importância da linguagem como “ato de fala” de
determinado contexto:
A literatura [...] é um ato de fala ou evento textual que suscita
certos tipos de atenção. Contrasta com outros tipos de atos de
fala, tais como dar informação, fazer perguntas ou fazer pro-
messas. Na maior parte do tempo, o que leva os leitores a tratar
algo como literatura é que eles a encontram num contexto que a
identifica como literatura: num livro de poemas ou numa seção
de uma revista, biblioteca ou livraria (1999, p. 34)
O mestre Antonio Candido vai mais adiante em relação aos
questionamentos de Culler quando reflete sobre algo que nos pare-
ce oportuno: “[...] qual a influência exercida pelo meio social sobre
a obra de arte? Digamos que ela deve ser imediatamente completa-
da por outra: qual a influência exercida pela obra de arte sobre o
meio [social]?” (2006, p. 28).
De algum modo, nossa pesquisa deseja responder a esse ques-
tionamento quando traz à tona um caso singular de intersecção da
história e da sociologia com a literatura e o jornalismo, com o in-
tuito de enfatizar a modernidade e a Negritude2 no início do século
XX na Amazônia oriental, Belém do Pará, especificamente, visto
que nos voltamos para um grupo lítero-cultural com inserções im-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 137
portantes no pensamento republicano brasileiro, a partir da vivên-
cia na Amazônia paraense.
Trata-se da Academia do Peixe Frito, uma associação formada
por cerca de 13 intelectuais, em sua maioria autodidatas, negros,
pobres e oriundos da periferia da cidade, os quais, com suas ações,
acabam por interferir no ethos da Belém da primeira metade do sé-
culo XX, mais precisamente nos anos 30. O grupo, liderado pelo
poeta e jornalista Bruno de Menezes (Belém, 1896 / Manaus, 1963),
contribui para instaurar a modernidade literária e a defesa da Ne-
gritude no Norte do Brasil. Os “acadêmicos” do Peixe Frito faziam
contraponto a intelectuais pequeno-burgueses – embora não deixas-
sem de dialogar com esses – que se reuniam, à moda parisiense, nos
“cafés esnobes” da cidade. Os integrantes da Academia escolheram
como espaço inusitado de encontro as barracas da feira do Ver-O-
-Peso, discussão que era “regada” pela cachaça e pelo peixe-frito.
O grupo deixou uma vasta obra literária e jornalística, composta
por poemas, romances, contos, crônicas, artigos jornalísticos, que
contribuem para sedimentar um olhar sobre a cultura amazônica e
sua relação dialética com o nacional e o global, a partir da rebeldia
de intelectuais da periferia de Belém. Eles sedimentam o terreno
de parte significativa, senão toda, da arte inovadora, que já se fazia
sentir na Europa e chegava ao Brasil naquele momento. E mais: sem
ter consciência disto, iniciam uma tradição que pode ser verificada
ainda hoje em autores contemporâneos que produzem no Pará.
Aqui, por meio de um recorte seletivo, debruçamo-nos sobre a
obra de dois dos treze integrantes da Academia do Peixe Frito. Tra-
ta-se de Dalcídio Jurandir (1909-1979), autor de Belém do Grão-Pará,
entre outros, e de Bruno de Menezes (1893-1963), autor de Can-
dunga, Batuque e São Benedito da Praia. A atuação literária e jorna-
lística desses “moços”, advindos das margens do capitalismo, mais
especificamente da periferia de Belém do Pará marca um inovador
“espírito do tempo”, que propõe novas formas estéticas à sociedade
paraense, assentada no provincianismo e na mesmidade da “arte
velha” baseada no Parnasianismo.
Neste texto, que produzimos a partir de pesquisa inicial sobre
o grupo, utilizamos a análise documental (MOREIRA, 2005) como
método de observação de materiais e documentos cedidos pelas fa-
mílias dos escritores, para buscar pistas de suas atuações políticas
e literárias no passado. E com relação às obras literárias, seleciona-
138 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
mos trechos das obras citadas para fazer uma análise narratológica
a partir de Luiz Gonzaga Motta (2013).
Ao observar os textos literários como narrativas, comungamos da
ideia de que “[...] narrar é relatar eventos de interesse humano enun-
ciados em um suceder temporal encaminhado a um desfecho [...],
uma sucessão de estados de transformação responsável pelo sentido”
(MOTTA, 2013, p. 71). Trata-se de uma dialética da continuidade-des-
continuidade, uma complicação que solicita uma resolução. A narra-
tiva é uma atitude argumentativa contextualizada num tempo/espaço
de uma determinada cultura. Portanto, são construções, atos de fala,
vistos como práticas sociais. Motta propõe que observemos três ins-
tâncias da narrativa: o plano da expressão (linguagem ou discurso);
o plano da estória (ou conteúdo); e o plano da metanarrativa (tema
de fundo). Aplicaremos essa proposta de análise para observar como
esses textos escritos em Belém, na primeira metade do século XX,
trazem, por meio da ficção, um diálogo inovador e provocante com a
História e demais Ciências Sociais, a partir da periferia da cidade e das
gentes simples, antes relegadas aos silêncios e apagamentos do texto.
2. As inquietações modernizantes, relações entre o
local, o nacional e o universal através da literatura
Para início de conversa trazemos uma reflexão de Antonio Can-
dido no já clássico Literatura e Sociedade. Diz-nos Candido:
[A] tarefa [que aqui se apresenta] é investigar as influências
concretas exercidas pelos fatores socioculturais [numa obra de
arte] [...] [embora seja] difícil discriminá-los, na sua quantidade
e variedade, mas pode-se dizer que os mais decisivos se ligam à
estrutura social, aos valores e ideologias, às técnicas de comuni-
cação (CANDIDO, 2006, p. 31).
E prossegue o estudioso acerca das influências sociais na cria-
ção estética, que se explicam na posição social do artista ou do gru-
po que é receptor de sua obra, na forma e conteúdo dela, na fatura
e na transmissão do processo estético:
O grau e a maneira por que influem estes três grupos de fatores
variam conforme o aspecto considerado no processo artístico.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 139
Assim, os primeiros se manifestam mais visivelmente na defini-
ção da posição social do artista, ou na configuração de grupos
receptores; os segundos, na forma e conteúdo da obra; os tercei-
ros, na sua fatura e transmissão. Eles marcam, em todo o caso, os
quatro momentos da produção, pois: a) o artista, sob o impulso
de uma necessidade interior, orienta-o segundo os padrões da
sua época, b) escolhe certos temas, c) usa certas formas e d) a
síntese resultante age sobre o meio (CANDIDO, 2006, p. 31).
Esse “circuito criativo”, no movimento que vai da criação à recep-
ção de uma obra, encontra eco, em grau maior ou menor, numa dada
sociedade, conforme as demandas de ordem social e estética que essa
sociedade apresenta. Daí porque se pode inferir que os integrantes da
Academia do Peixe Frito tinham consciência de que havia lacunas so-
ciais e culturais que precisavam ser preenchidas, e isso remetia à ação
tanto no campo do jornalismo como no da literatura, que preconiza-
vam um novo momento e uma nova categoria que reunisse os anseios
que latejavam há algum tempo, mas precisavam tomar forma na escrita
e na ação que não estava contemplada pelos grupos abastados que se
reuniam em cafés das “gentes chiques” do centro da cidade. E é Can-
dido ainda quem afirma algo que nos serve de referência acerca das
relações entre a confecção da obra artística e sua repercussão social:
[...] não convém separar a repercussão da obra da sua feitura,
pois, sociologicamente ao menos, ela só está acabada no momen-
to em que repercute e atua, porque, sociologicamente, a arte é
um sistema simbólico de comunicação inter-humana, e como tal
interessa ao sociólogo. Ora, todo processo de comunicação pres-
supõe um comunicante, no caso o artista; um comunicado, ou
seja, a obra; um comunicando, que é o público a que se dirige;
graças a isso define-se o quarto elemento do processo, isto é, o
seu efeito (CANDIDO, 2006, p. 31).
O que estamos a fazer, em primeira instância, é estudar as re-
verberações da obra dos escritores da Academia do Peixe Frito, pois
que essa obra “só está acabada no momento em que [ela] repercute e
atua” (CANDIDO, 2006, p. 31), uma vez que temos o comunicante, o
comunicado e o comunicando, segundo sistema de comunicação in-
ter-humana defendido por Antonio Candido e que se ajusta à nossa
investigação. E é segundo esse processo do crítico, literário e soció-
logo que se pode medir o efeito social de determinada obra estética.
140 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
No entanto, para se entender esses novos comportamentos sociais
advindos do grupo de jovens inovadores intelectuais, quais sejam os
que refletirão na Negritude e nas inovações modernistas na Belém
dos anos vinte do século passado, faz-se necessário conhecer um pou-
co da Belle Époque em terras da Amazônia paraense, movimento tão
controverso quanto latente no imaginário do amazônida urbano de
classe média que frequentou a escola, e que, salvo engano, entende
esse estilo artístico como a grande preamar entre os momentos cultu-
rais vividos pelas capitais3 econômico-culturais da Amazônia.
Marcos dessa época ainda estão de pé e bem firmes na memó-
ria, como o Teatro da Paz, em Belém, e o Teatro Amazonas, em
Manaus. É o boom da borracha, quando a região ganha destaque
no cenário nacional e internacional. A exploração da borracha na
segunda metade do século XIX é representada como o momento de
grande crescimento para a região: “o primeiro grande ciclo econô-
mico”. Era o tempo da prosperidade, da modernidade, da riqueza,
do luxo que sustentam o orgulho das capitais amazônicas. A Ama-
zônia passa a existir como fronteira econômica importante e assim
se constitui para a memória nacional oficial. É quando a Amazônia
de fato se faz existir para o Brasil e para o mundo (VELHO, 1979).
E existe para a história oficial como o “ouro branco da Amazônia”.
Figura 1 – “O Seringueiro”, de Percy Lau.
Fonte: Tipos e aspectos do Brasil, 1949.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 141
Por outro lado, há um silenciamento sobre a outra face da eco-
nomia da borracha, o da exploração do homem. O lado obscuro da
exploração da borracha foi observado por Euclides da Cunha: “[...]
de feito, o seringueiro – e não designamos o patrão opulento, senão
o freguês jungido à gleba das ‘estradas’ –, o seringueiro realiza uma
tremenda anomalia: é o homem que trabalha para escravizar-se”
(1909, p. 9). Márcio Souza confirma: o seringueiro (figura 1) “[...]
era aparentemente livre, mas a estrutura concentrada do seringal o
levava a se tornar um escravo econômico e moral do patrão” (2001,
p. 183).
A região Norte do Brasil historicamente esteve afastada, não
só geograficamente, mas política e economicamente do restante do
Brasil. A província do Grão-Pará e Rio Negro, como era conhecida
esta região constituía quase outro país. De lá até a capital do Brasil –
o Rio de Janeiro – levava-se três meses de navio. E de Belém a Portu-
gal eram apenas 15 dias. Daí decorre que Belém guarda influências
e sotaques diferenciados de outras regiões brasileiras, graças a essa
relação mais próxima com a cultura portuguesa (SOUZA, 2008).
Belém e Manaus importavam quase tudo de Portugal (da roupa
ao ferro; do perfume ao sapato). A economia da borracha, que ele-
va a região em importância econômica no cenário mundial, faz de
nossas capitais cidades afrancesadas. Arquitetura, casarios, eventos
culturais, cafés ofertavam espaços públicos de encontros para a alta
sociedade, branca e enriquecida, pela economia do látex. A maioria
da população, cabocla e negra, era quem sustentava, com seu traba-
lho, os mimos e as exigências dessa gente endinheirada.
A cultura europeia e ocidental era quem ditava as regras não
só no Norte do Brasil, mas em toda a América. As dicotomias entre
civilizado e selvagem e entre letrados e iletrados ecoavam forte na
centralidade da cultura aprovada e aceita socialmente – a portugue-
sa. O conhecimento científico, visto desde a modernidade, como o
conhecimento verdadeiro, servia de base para as taxonomias que
identificavam e enquadravam os sujeitos pela cor da pele, pela raça
(SCHWARCZ, 1993).
Negros e índios estavam relegados a categorias sociais de povos
sem história, sem estudo, sem cultura, sem nada (CUNHA, 1909).
A eles competia ter braços fortes e saúde para sustentar as exigên-
cias e necessidades das senhoras e dos senhores abastados da Belém
francesa. A cultura desses povos não circulava nos locais públicos
142 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
porque não pertencia à “alta cultura”, e o lugar da cultura popular
estava restrito aos redutos da periferia de Belém.
É nesse contexto que os militantes da Academia do Peixe Frito,
enquanto intelectuais negros, oriundos de bairros pobres, cansados
da invisibilidade dessas culturas, farão surgir em seus textos e ma-
nifestos o protagonismo da gente simples, do povo, das ruas, enfim,
do interior do Pará. São narrativas que colocam em cena novos olha-
res, invertem os lugares de onde se olha, para publicizar as dores e
alegrias da periferia, porém, não sob o olhar da vitimização e da
melancolia (COSTA, 2011) – mas permitindo com que o cotidiano
surgisse como marca e produção de saberes até então completamen-
te apagados pela literatura vigente.
3. A Academia do Peixe Frito: inclusão das vozes do
povo no cenário da literatura e das demais artes a partir
da rebeldia de intelectuais da periferia de Belém
O interesse em torno da Academia ou Grupo do Peixe Frito faz-
se da necessidade de mostrar que suas obras não só colocaram em
xeque a pasmaceira provinciana de uma sociedade que até pouco
tempo se vangloriava da Belle Époque, sem perceber suas contradições,
como também instituiu uma nova prática, que se coaduna com as
ideias dos Modernismos que aconteciam no Brasil e no mundo, e de
que Belém Pará não esteve apartada, como terreno de gestação de
inovações e inquietudes no campo estético-cultural.
A denominação Academia do Peixe Frito, a que tudo indica, foi
celebrizada a posteriori, provavelmente retirada do prefácio de Chove
nos campos de Cachoeira, de Dalcídio Jurandir, quando o romancis-
ta explica a indiferença, sobretudo das autoridades paraenses, para
com os artistas da terra. Enquanto os governantes apadrinham os
aventureiros que chegam de fora para “sangrar o Tesouro do Esta-
do”, “os da terra ficam no peixe frito” (JURANDIR, 1941, p VIII).
Daí, então, teria surgido o nome que receberiam os inovadores aca-
dêmicos. A professora e pesquisadora Lenora Menezes Brito (2005)
tem uma versão diferente desta aqui apresentada. Ela, que também,
além de pesquisadora, é filha de Bruno de Menezes, identifica a de-
nominação do grupo de intelectuais como consequência da imersão
deles na realidade dos barqueiros do Ver-O-Peso, feira que caracte-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 143
riza o entre-lugar entre a cidade ribeirinha e a insular com a conti-
nental e urbana. Documento datilografado da autoria De Campos
Ribeiro, cedido pela família, no entanto, dá conta da existência do
grupo como “Associação dos Novos” (Figura 2).
Figura 2 – Currículo de De Campos Ribeiro – Documento cedido pela família
Pesquisadores que nos antecederam, Aldrin de Moura Figuere-
do (2008), Luiz Augusto Pinheiro Leal (2014) e Lenora de Menezes
Brito (2005), referências no assunto, dão conta da dinâmica dos in-
telectuais que criaram a Academia do Peixe Frito. Nós nos associa-
mos a eles para contribuir com dados que pretendem enriquecer
as biografias desses escritores que militaram entre a literatura e o
jornalismo, numa época em que a circulação de informação era,
naturalmente, mais precária que a de hoje. Desejamos também en-
fatizar o modo como suas práticas interferiram positivamente no
conjunto de fatos sociais que se espraiam durante o século XX da
capital oriental da Amazônia brasileira.
Os “novos” deixaram em suas obras, rastros importantes na his-
tória do Pará e da produção literária e jornalística e na ação política
(não necessariamente partidária). Sua rebeldia não se resumia à es-
crita de obras literárias. Suas ações, consideradas por alguns quase
“antipatriotas” de tão questionadoras que eram, traziam aos cafés
e espaços sociais e repartições públicas da cidade as angústias, as
dores e também as alegrias, a música, a poesia de uma população,
negra e mestiça, há muito marginalizada por uma cultura eurocên-
144 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
trica, à parisiense, que ignorava os pobres e a cultura popular, so-
bretudo aquela advinda dos subúrbios de Belém, em especial dos
bairros do Jurunas, Umarizal, Telégrafo e Vila da Barca, que fazia
parte da vivência dos “moços” da Academia do Peixe Frito. Na foto
abaixo (figura 3), vemos alguns dos acadêmicos:
Figura 3 – “Os Acadêmicos” – Sentados da esquerda para direita, Paulo de
Oliveira, o pintor Euclides Fonseca e Edgar Souza Franco. De pé (na mesma
ordem) Clovis de Gusmão, Farias Gama, Bruno de Menezes e De Campos
Ribeiro, da Academia do Peixe Frito.
Encabeçados por Bruno de Menezes, eles constituíam um gru-
po que, longe de sentir-se abastados com o enriquecimento do látex,
emergiu de classes mais pobres. Menezes, por exemplo, era filho de
Dionísio Cavalcante de Menezes (mestre pedreiro) e Maria Balbina
da Conceição Menezes (costureira); morador do bairro do Jurunas,
na época um dos mais pobres da periferia da cidade, era o habitat
de migrantes nordestinos, descendentes de africanos e indígenas.
Formado nas hostes da sensibilidade social mais apurada, de olhar
voltado a seus semelhantes mais “humildes”, Bruno de Menezes, já
em 1913, escreve, embora ainda em forma clássica, o soneto “O
Operário”, que trará para a cena da literatura o trabalhador das
fábricas, numa cidade que começava a escutar o apito das fábricas:
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 145
Fatigado levanta-se o operário
por haver trabalhado o dia inteiro;
e mesmo assim dirige-se ao calvário
de seu agro labor, – o grande obreiro...
E, se acaso não chega por primeiro,
antecedendo a oficina o horário,
se quiser para o almoço ter dinheiro,
tem de escutar de doestos um rosário...
Mas, sendo artista que sua Arte preza,
estanca do portal dali não passa,
os seus minutos e patrão, despreza.
E, de orgulho cheio, eleva o seu olhar,
mostrando ter passado a nuvem baça
que lhe estava a Razão sempre a ocultar!
(MENEZES, 1993, p. 48)
O poema, escrito quando o jovem Bruno de Menezes comple-
tava 20 anos de idade, demonstra a tendência social, de inclinação
claramente cristã (observe-se o uso do significante “calvário” de for-
te semântica ligada ao cristianismo); evidente se faz também a ideia
de valorização de pessoas do povo, que atravessarão sua literatura e
que o escritor tão bem desenvolverá a partir do livro Bailado lunar,
em 1924, e que será um dos pressupostos mais caros do Modernis-
mo, sem o qual o cenário dos textos, habitado pelas gentes das clas-
ses populares, não se manteria vivo e dinâmico. Aí está, digamos,
uma tendência ideológica da prática social e estética daquele que
viria a ser o líder da Academia do Peixe Frito. O poema em questão
tende a desconstruir a imagem do trabalhador passivo e sem vonta-
de política que a ideologia das elites tentava impingir.
A fim de desconstruir a ideia do fausto da borracha, o próprio
Bruno de Menezes, assim como Dalcídio Jurandir,4 esse também um
“participante descontínuo” da Academia do Peixe Frito, escreve uma
versão pouco conhecida do seringueiro, retrato muito distante do
discurso oficial que dava conta das “folias do látex”, consequências
do enriquecimento da região. Para Menezes, a época da borracha
nada mais era do que “o drama da Amazônia, sem paisagem nem
poesia...”. Assim é que se lê em “O Seringueiro”:
146 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Do tapiri de palha sobe a fumaça distante,
É lá o defumadouro da seringa que enriquece
e dá o fausto do dinheiro e o conformismo da pobreza.
Lá dentro está um bruxo envolto em fumo cegante,
defumando o leite de ouro da árvore perseguida.
Dali é que vai sair a fortuna caprichosa
Com que o gênio da Selva se vinga dos feudatários.
O bruxo é o pária inconsciente, que defuma os balões elásticos,
sobre o cone que fumaça e põe lágrimas nos olhos...
É aquele o drama da Amazônia sem paisagem nem poesia,
desde o dia em que o intruso teve a ilusão de enriquecer...
O seringueiro é o velho bruxo... E a borracha o filtro mágico
que ele prepara com o demônio na solidão do seu degredo.
(MENEZES, 1993, p. 501)
Fica claro, portanto, um novo olhar sobre a questão de que as
elites amazônicas muito se orgulhavam, a economia do látex, que
para as elites prefigurava como consenso do “auge da economia”
do Norte do Brasil; a voz que predomina no poema, no entanto,
implode o discurso dominante, além de representar um quadro que
configura um drama social que oprime o seringueiro, visto ali como
um “pária inconsciente” e um “velho bruxo”. Ele, seringueiro, que
sustenta a base da riqueza gerada pelo látex, mas que, entretanto,
não usufrui dessa riqueza; ele que prepara a “pela” borracha, mas
vive o desconforto da solidão e do degredo nos distantes seringais
da região norte do Brasil.
4. As obras de Bruno de Menezes e de Dalcídio
Jurandir
Bruno de Menezes é autor de Batuque (1931) e Bailado lunar
(1924), livro com dicção inovadora, com fortes influências baudelai-
rianas, que introduz o Modernismo no Pará. Daí é que se pode afir-
mar que os terreiros de subúrbio, currais de bois-bumbás e pássaros
juninos e a vida nos bairros pobres começa a aparecer nas obras
desses escritores, tanto em textos jornalísticos quanto nas coletâneas
literárias, conforme o que se pode constatar nas coletâneas publica-
das pelo grupo.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 147
Escritor pouco conhecido fora dos limites da Amazônia bra-
sileira, Bruno de Menezes construiu uma obra que espraia seus
tentáculos até os dias atuais, que fomenta discussões acerca de
seu envolvimento no movimento do cooperativismo e da negritu-
de no Pará. Menezes é um misto de poeta, romancista, novelista,
folclorista, sindicalista e agitador cultural. Ele nasceu no bairro
do Jurunas, periferia de Belém, em fins do século XIX. Mene-
zes ultrapassou, não sem o auxílio de amigos, como o professor
e violonista Tó Teixeira (baluarte da cultura negra em Belém),
os obstáculos econômicos e sociais e assim acabou por tornar-se
um dos mais instigantes poetas da negritude do Brasil, quando
em 1931, lançou o livro Batuque, inserido na coletânea Poesias.
A Negritude em Batuque é ressignificada no espaço amazônico
quando o poeta enfatiza o protagonismo dinâmico, fazendo de
nossa literatura palco privilegiado e até então não explorado pe-
los literatos, como podemos verificar no excerto do poema “São
João de Folclore e Manjericos”:
Junho! Mês joanino de Santo Antônio de Lisboa,
do João Batista precursor,
do velho São Pedro chaveiro do céu
.........................................
Ah! Como o folclore revive na tua quadra
as nossas ingênuas crenças avoengas!
– Os patacões de cobre que dormiam no braseiro
para os “cortes de isipla” e suspensão de espinhela;
os cortinados de cama e igreja de claras de ovo
nos copos serenados das esperanças de noivado;
a lâmina da faca virgem
cravada na inocente bananeira sem culpa;
o espelho de água dormida na bacia dos destinos
.........................................
Tuas bebidas meio-índio africanas
– O aluá a tiborna a gengibirra,
A “caninha imaculada” com o rosário do engenho espumando...
Os munguzás, as canjicas bolindo,
Os mingaus bem do Norte
Com leite de coco castanha e fubá
..................................................
148 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Ah! São João dos meus quinze anos da Jaqueira,
Quando fui chefe de maloca e as mulatas me viciavam.
Por que não és mais o mesmo meu São João do passado?
(MENEZES, 2005, 43-45).
Percebe-se que, com sentimento forte de melancolia (note-se
que a fixação da quadra junina do passado, em que, no início do
XX, o século XIX é rememorado “com tristura”) é demonstrada
através das representações dos costumes singulares do povo amazô-
nico – comportamentos, simpatias, gastronomia – que fazem do São
João brasileiro a mais híbrida das festas e que encontrou no povo
do Norte a ressignificação “meio-índio africana” da festa transplan-
tada para o Brasil pelo colonizador europeu. É nítido o fato de que
a literatura é mais uma vez uma fixação do cotidiano da periferia
de Belém do Pará, o negro que ali habita é caracteristicamente um
negro influenciado pelas marcas da floresta.
Sem ter tido edições fora do Pará, o Brasil desconhece Bruno
de Menezes, um autor criativo e instigante, que descreveu como
ninguém a realidade, usos, costumes e organização social dos ne-
gros da Amazônia paraense, singular em suas marcas culturais que
o diferenciam dos negros de outros lugares do Brasil, como bem foi
demonstrado anteriormente no excerto de “São João de Folclore e
Manjericos”. E foi assim que, irrequieto e consciente de sua função
política, que Bruno de Menezes reuniu em torno de si, em 1923, um
grupo que fundou a revista Belém Nova,5 órgão aglutinador do movi-
mento modernista paraense em seu primeiro momento.
As habilidades de Bruno, o poeta e folclorista, aqui nos servem
de recorte em São Benedito da Praia e Batuque. Como foi dito, são
enunciações da Negritude, seja no campo do estudo etnográfico,
seja na poesia. As habilidades em manusear as palavras provocam
no leitor sensações de sentidos múltiplos, sobretudo o da visão e do
audição, que possibilitam que os versos de Bruno propiciem, atra-
vés de assonâncias, aliterações e entonações em sons nasais, uma
rica defesa da cultura afrobrasilamazônica e dos valores étnicos da
negritude em diáspora. Assim é que tais recursos fazem de Batuque
um livro singular no rol da literatura brasileira modernista; não é à
toa que o poeta Edson Coelho6 refere-se a Bruno de Menezes como
“mestre de palavras percussivas”. A enunciação de seus textos faz-se
ponte dialógica com os movimentos libertários que surgiriam mais
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 149
tarde na África, sobretudo aquela da lusografia, a que se expressa
literariamente através da língua portuguesa. Assim, não é à toa que
a revista Prèsence Africaine,7 de abril/maio de 1960, com algum atra-
so, tenha se referido ao livro de poemas de nosso autor, destacando-
-lhe a singularidade da negritude que se manifesta na cultura latino-
-americana:
Batuque é uma coleção de imagens vivamente coloridas, estu-
antes de labor popular, porém impregnadas de uma atmosfera
sagrada e mística, não encontrada, habitualmente, na poesia ne-
gra latino-americana [...] Apesar dos temas e cenários profanos,
sofre a influência de uma inspiração religiosa, revelando o negro
brasileiro em sua integridade cósmica, trabalhado pela ação an-
cestral que lhe modela a dança e o canto (MENEZES, 1993, s/p).
A revista francesa, front das lutas negro-libertárias, decodificou
parte do ideário do livro de poemas do escritor brasileiro, dando-
lhe dimensões universais, inserindo-o na atmosfera das obras de
inspiração negritudinistas.8 Afora isso, pode-se perceber o nível de
representação do cotidiano belenense, através de versos que exalam
cheiros e sensações táteis, visuais e sonoras da Amazônia (fator que
institui diferença essencial no contexto da literatura brasileira do
século XX), bem como o gozo dos corpos negros que transpiram
resistência à opressão do regime escravista do passado (o livro
denuncia a escravidão através da rememoração de personagens
negras que recompõem o passado para as novas gerações, como
que a dizer que a barbárie cometida não pode ser jamais apagada da
memória coletiva do Brasil).
Batuque, desse modo, constitui-se um grito contra a exploração
dos negros pelo branco dominador, violento e autoritário. Pode-se
dizer que após a publicação dessa obra se torna difícil, ao menos
na Amazônia paraense, o desenvolvimento da temática negritudi-
nista, mantendo-se ao mesmo tempo o tom de registro, denúncia e
qualidade estética. Até onde se sabe, Batuque, dentre os livros publi-
cados nos limites do estado do Pará, longe das grandes editoras, é
recordista de edições. De 1931 até hoje, são, ao todo, oito edições (a
última teve tiragem de 2 mil exemplares e uma oitava está no prelo),
o que torna evidente o sinfronismo do texto do poeta paraense.9 E
o que faz dela um clássico entre os leitores do Pará.
Nascido e criado no Marajó, Dalcídio Jurandir (Ponta de Pedras,
150 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
1909 / Rio de Janeiro, 1979) é autor de vigorosa obra romanesca
sobre a Amazônia, que integra o Ciclo Extremo Norte, composto por
10 romances que trazem para o centro da cena ficcional principal-
mente a realidade controversa do povo das barrancas e ribanceiras da
ilha do Marajó e dos subúrbios da capital do Pará, aquilo que o autor
chamou certa vez de “minha criaturada dos pés no chão”. Em seus
escritos, Dalcídio Jurandir proporciona o protagonismo dos mais hu-
mildes, bem ao gosto do projeto da Academia do Peixe Frito, que ele
frequentou esporadicamente, nos aprendizados ao ar livre com seus
camaradas. Chama-nos atenção o fato de que em um período de 50
anos, entre 1929 e 1978, quando da publicação de Ribanceira, o últi-
mo romance do escritor, Dalcídio Jurandir assumiu a missão singular
de traçar um painel esmiuçado da Amazônia paraense (espaço, cenas,
personagens, suas contradições, encantos e desencantos).
A filiação do autor ao Partido Comunista e a adoção do realismo
socialista como premissa de seus romances, longe de os transforma-
rem em panfletos ideológicos, imprimem um mergulho na lingua-
gem e nas tradições culturais, ao mesmo tempo em que reproduz
o universo imaginário e a realidade dessas populações marginaliza-
das, que antes do Modernismo, praticamente eram desconhecidas.
Assim, a linguagem e os modos de vida das populações amazônicas,
sobretudo as do Marajó e as dos subúrbios de Belém, ganham as
páginas da literatura, no que ele comunga com seus parceiros da
Academia do Peixe Frito, sobretudo Bruno de Menezes.
As aventuras de Alfredo, “alter ego” do escritor, habitam 9 dos 10
“romances amazônicos” do Ciclo. Sua morada no Marajó, Cachoeira,
e sua migração para Belém, são marcas que deixam antever as contra-
dições históricas dos povos brasileiros que se fixam no Norte do Bra-
sil. Devido à sua opção estético-política, Dalcídio Jurandir pertence
à segunda geração do Modernismo (espécie de representante tardio
daquele movimento), que se estende didaticamente de 1930 a 1945, e
nos traz escritores como Jorge Amado, Rachel de Queiroz, José Lins
do Rego e Graciliano Ramos, Dionélio Machado, entre outros.
Devido às suas convicções políticas, o escritor encontrou no jor-
nalismo engajado e socialista uma forma de sobrevivência, e traba-
lhou na revista Diretrizes, do Partido Comunista Brasileiro. Como
fruto dessa atividade jornalística é que publica o único romance que
não integra o Ciclo Extremo Norte, Linha do Parque, que versa sobre
uma greve de trabalhadores portuários no Rio Grande do Sul.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 151
A convivência de Dalcídio Jurandir com Bruno de Menezes, o
líder da Academia do Peixe Frito, foi longa e intensa. De respeito
mútuo e de identidades social e de ideias, eles mantiveram por
mais de dez anos uma correspondência intensa, quando o roman-
cista marajoara mudou-se para o Rio de Janeiro. Bruno de Mene-
zes exerce influências fortes na poesia que Dalcídio Jurandir criou
na juventude, e o último, por sua vez, influenciará a narrativa que
Bruno de Menezes viria a escrever nos anos 50, como se lê em
Candunga, história de migração e fixação de colonos da estrada de
Ferro Belém-Bragança.
Em Belém do Grão-Pará, romance do qual retiramos o excerto
para analise, vale observar as transcrições, o narrador de tercei-
ra pessoa primeiramente fixa o ambiente, para só então, deter-se
na fala das personagens (Nunes, 2007). Há mesmo demonstração
de que o discurso da personagem é influenciado pelo ambiente,
constituindo um verdadeiro traslado dialético da linguagem. Ou o
narrador é influenciado pelas personagens. Alfredo (menino que
migrou de Cachoeira para Belém, a fim de estudar, e por isto pas-
sa a morar na casa dos Alcântara), comporta-se, quando de sua
chegada a Belém, com pasmo ou frustração. E o narrador absorve
seus sentimentos controversos.
5. Literatura do Peixe Frito: Bruno de Menezes e
Dalcídio Jurandir à luz da narratologia de Gonzaga
Motta
Neste tópico passamos a analisar trechos de duas obras dos refe-
ridos autores, quais sejam: Candunga, de Bruno de Menezes e Belém
do Grão-Pará, de Dalcídio Jurandir. Usaremos os recursos metodo-
lógicos da narratologia para quem a “[...] narratologia é a teoria da
narrativa e os métodos e procedimentos empregados na análise das
narrativas humanas. É, portanto, um campo de estudo e um método
de análise de práticas culturais” (MOTTA, 2013, p. 75).
Bruno de Menezes e Dalcídio Jurandir, em seus textos, falam
de suas épocas. Mencionam um contexto, o presente histórico, suas
lutas, contradições, trazem para o enunciado suas visões de mundo
como construções representativas de seus desejos de mudança. Mot-
ta, acerca do fenômeno narrativo, afirma:
152 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Narrar é uma técnica de enunciação dramática da realidade, de
modo a envolver o ouvinte na estória narrada. Narrar não é, por-
tanto, apenas contar ingenuamente uma história, é uma atitude
argumentativa, um dispositivo de linguagem persuasivo, sedutor e
envolvente. Narrar é uma atitude – quem narra quer produzir cer-
tos efeitos de sentido através da narração (MOTTA, 2013, p. 74).
A narrativa é um relato que sugere um percurso no tempo, pro-
duções de sentido, atravessadas por estados de transformação enca-
minhados a um desfecho. Trata-se de uma intriga, que tem como ele-
mento estruturante a “dialética da continuidade-descontinuidade”, ou
seja, um estado de equilíbrio, que desequilibra e tem como resolução
o retorno ao equilíbrio. Como apontamos no início do texto, indica-
mos aqui algumas análises iniciais de uma pesquisa em andamento,
a partir da qual aplicamos os métodos da narratologia para observar
como os autores da literatura dialogam com as questões sociais.
Motta propõe que se observem as narrativas a partir de três
planos: o plano da expressão (linguagem ou discurso); o plano da
estória (ou conteúdo); e o plano da metanarrativa (tema de fundo).
O plano da estória, no qual cabem as sequências de ações, encadea-
mentos, enredo, intriga, conflitos, cenário e personagens... depende
do plano do discurso ou da linguagem, por meio do qual a estória
se projeta e se revelam as intenções comunicativas do autor. A análi-
se se completa com a observação do plano das metanarrativas, dos
modelos de mundo postos em cena.
No plano da estória temos a identificação do conteúdo e da intri-
ga, que tem autonomia com relação ao plano da expressão, da lingua-
gem: “[...] [é] o plano virtual da estória projetada em nossa mente pe-
los recursos de linguagem utilizados pelo narrador” (MOTTA, 2013,
p. 137). Aqui temos o plano da diegese, da representação a partir de
uma realidade referente encadeada em uma sequência de ações cro-
nológicas e causais desempenhadas pelos personagens que movimen-
tam a intriga. É o plano de conteúdo do enredo ou da trama, a partir
do qual é dado ver os conflitos principais e secundários, os episódios,
o ritmo imprimido pelo narrador, a caracterização das personagens,
que nos explicitam uma certa maneira no ato de contar.
Em Candunga, prosa de ficção, Bruno de Menezes trata com mi-
núcias de representação verossímil a história brasileira, que então,
na virada dos séculos XIX para o XX, envolveu nordestinos e para-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 153
enses, e tratou da instalação da Estrada de Ferro de Bragança, res-
saltando a ênfase na chegada de uma leva expressiva de sertanejos
que se deslocara para a região nordeste do Pará. Ali a finalidade era
a de fixar em nova morada àqueles que viviam em extrema miséria
decorrente da estiagem do sertão, ao mesmo tempo em que ajudaria
a resolver o dilema do governo do Pará que almejava povoar aquelas
zonas então quase desabitadas.
A intriga de Candunga adensa-se quando os recém-chegados
confrontam-se com os do poder local, “os donos do lugar”, comer-
ciantes que exploram sobremaneira todos os que chegam, fazendo-
-lhes comprometer a safra que ainda sequer foi plantada, através da
venda fiado de produtos de toda ordem em seus comércios, venda
que se dá de modo exorbitante e injusta. Esses negociantes explora-
dores, via de regra, são protegidos pelos representantes do Estado,
dentre eles o delegado. Tudo era conduzido na mais perfeita ordem
até que a família de Candunga, o protagonista, sente-se explorada, e
o rapaz reage aos desmandos João Deodato, o capataz, e inicia o sa-
neamento do lugar, procurando restituir a justiça para com as explo-
radas famílias de migrantes, o que de fato ocorre no final da trama.
Candunga é o símbolo do herói, moldado ao feitio do realismo
socialista. Forte, astuto e líder de uma comunidade explorada, ele
consegue, reunir o povo para, através da luta, superar a opressão.
Nesse sentido, pensamos que Bruno de Menezes usou seu poder de
observação na experiência de funcionário público do Instituto de
Terras do Pará, e assim criou uma trama verossímil, com pitadas de
heroísmo ficcional. A seguir pode-se perceber a nobreza de caráter
do herói, que mesmo diante do fatalismo e da predestinação para a
desgraça dos sertanejos (como bem sugere o sentimento do narra-
dor), Candunga não se abate e se preocupa com o grupo:
Candunga preocupa-se em saber aonde irão ficar, se as terras
a lhes entregarem ainda estão longe e como será a posse das
mesmas [...].
Agora está com sua família feito retirante, mas Assunção, agre-
gada, que felizmente os encontrara, [...] nunca sonhara que uma
situação dessas viesse a enfrentar na vida. Mas havia de ser o que
Deus quisesse, pois transes piores já tinham passado, e Candun-
ga também não se abatia, pronto a não abandonar os seus, a ficar
com eles, sem se poupar de trabalho para vencerem de uma vez
(MENEZES, 1993, p. 115).
154 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Em Belém do Grão-Pará, romance urbano escrito por Dalcídio
Jurandir, do qual retiramos o excerto a seguir, vale a observação
das transcrições, à guisa de demostrar o que Motta (2013) chama de
plano da expressão. Nesse romance, o narrador em terceira pessoa,
com o estilo da crônica de costumes, fixa o ambiente, para só então,
deter-se na fala das personagens (NUNES, 2007).
Com a queda do velho Lemos, no Pará, os Alcântaras se muda-
ram dia 22 de Junho para uma das três casas iguais, a do meio,
de porta e duas janelas, n.º 160, na Gentil Bittencourt. Era no
trecho em que passava o trem, atrás do quartel do 26 de Caçado-
res. O toque de alvorada acordava o seu Virgílio para a Alfânde-
ga... (JURANDIR, 1960, p. 5).
Há na narrativa, como se verá melhor adiante, uma demonstra-
ção de que o discurso da personagem não raramente é influencia-
do pelo ambiente, constituindo um verdadeiro traslado dialético da
linguagem, em que o narrador influi no destino das personagens e
vice-versa. Alfredo (menino que migrou de Cachoeira para Belém a
fim de estudar, e por isso passa a morar na casa dos Alcântara), com-
porta-se, quando de sua chegada a Belém, com pasmo ou frustração
em relação àquilo que experiencia na capital. E o narrador, a mais
das vezes, absorve seus sentimentos controversos e com eles se alia.
As personagens que ali habitam vivenciam uma hierarquiza-
ção, bem ao gosto da sociedade brasileira, injusta, desequilibrada,
classista. Alfredo, por exemplo, identifica-se com Libânia e Antô-
nio, seus comuns, agregados da família Alcântara, que dá mora-
da ao menino que vem estudar na capital. O romance, primeira
experiência de narrativa urbana de Dalcídio Jurandir, configura
um verdadeiro tratado da representação de Belém na década de
20 do século XX, quando a cidade vivia a derrocada melancólica
do Ciclo da Borracha. Dalcídio Jurandir, graças a sua formação so-
cialista e participação (mesmo inconstante) na Academia do Peixe
Frito, desenvolverá uma trama em que as contradições da socieda-
de, capitalista e periférica, saltam aos olhos. Uma das personagens
mais controversas é dona Inácia, a matriarca da família Alcântara,
conforme nos ajuda a conhecer o narrador. Dona Inácia é incon-
formada com sua condição de mulher, num tempo em que às mu-
lheres não era possível o protagonismo social:
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 155
Abria a janela da rua e olhava o muro do 26 B.C, farejando. Ah,
tempos de moça. Ver um oficial escalando o muro para entregar
a ela um papel, dar-lhe um recado, uma mensagem cifrada... Sai-
ria na rua, empunhando bandeira, por Nilo por Seabra, a gritar
na cara dos lauristas contra o atraso do funcionalismo e a sorte
das professoras, que, por um vale de seus atrasados no Tesouro,
cediam honra, cediam vergonha.
– Ah, isso eu compreendo, explicava. Pode-se ter honra sem re-
ceber o ordenado? Não esperem coragem ou brio de nós, pobres
mulheres. O que separa a senhora honrada da meretriz é uma
cortina muito transparente, um fiozinho de seda, um risco de
giz... que podem esperar as professoras? Deixar de ensinar os
barrigudinhos papa-terra ou manter-se puras e famintas! Que
não se dispam? Não levantem a saia! Se não têm mais o que ves-
tir as pobrezinhas... saia! Mas não é para não andarem despidas,
ter uma saia, que se entregam?
Inácia exagerava (JURANDIR, 2016, p. 137).
Embora objetivamente o plano da estória não possa existir sem
o plano da expressão, o que se vê acima é que dona Inácia não se
conforma com a sociedade em que vivia, que relegava à mulher um
papel secundário. Ela aproveita a sua indignação (e a concessão que
o narrador faz em lhe passar a palavra) para protestar diante da situ-
ação social e econômica da mulher, tanto pode ser a meretriz quanto
a professora, todas emparedadas pelo falocentrismo da sociedade
patriarcal brasileira, de que a paraense faz parte. Observe-se que no
plano do discurso a ironia é um recurso usado fartamente tanto pelo
narrador quanto pelas demais personagens do romance.
No plano da expressão observamos a retórica escrita, os usos es-
tratégicos da linguagem para produzir determinados efeitos, como
comoção, medo, riso, tristeza, melancolia, etc. “É neste plano de
análise [...] que a intencionalidade do narrador e suas estratégias
discursivas podem ser mais bem desveladas” (MOTTA, 2013, p.
137). Vejamos, no caso do texto de Dalcídio Jurandir, o emprego do
verbo “farejar”, associado à característica inquieta e investigadora
de dona Inácia Alcântara.
Observemos agora o plano da expressão em Candunga, de Bru-
no de Menezes. Ali a descrição da saga dos imigrantes, que é execu-
tada para que a dramaticidade do cenário faça com que o leitor se
solidarize com o drama dos retirantes, é pormenorizada, para que
a cena nos comova:
156 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Na maioria descalços, outros de alpercatas gastas, os imigrantes
continuam a marcha para as terras distantes que irão ocupar.
Chegam à noite, à sede do município, acossados pela chuva, lar-
gados na estação da ferrovia, aos cuidados do prefeito, até que
o dia amanhecesse.
Desabrigados, friorentos, ficam a espreitar as horas, à espera de
quem os receba e acompanhe, levando-os aos terrenos julgados
devolutos, ou a um núcleo qualquer, onde terão de ficar.
Dispostos à dura caminhada, pouco se modifica a situação em
relação ao que sofreram, na fuga dos sertões, nos embarques e
transbordos.
Se agora, na terra adotiva e esperançada, a água não lhes falta, e
a fome, dias a fio não os tortura, tem de se utilizar da mesma pe-
nosa locomoção calcando areias escaldantes, tendo um sol sem
aragens a lhes seguir os rastros [...]
Os que seguem a pé também sofrem, mas não desanimam. Ca-
minhando extensos quilômetros, descansam, pacientes, quando
um ensombrado permite, porque na região acolhedora, o fogo
do céu não calcina tanto, nem abate a força seivosa da natureza,
e há densos copados verdes, marulham linfas correntes, mesmo
quando o verão diminui a intensidade das chuvas (MENEZES,
1993, p. 113).
Observa-se, no plano da linguagem, o modo como a narrativa
é tecida no sentido de produzir como estratégia enunciativa o sen-
timento de tristeza e sofrimento com relação aos imigrantes recém-
-chegados (“desabrigados, friorentos, acossados”). Ao mesmo tem-
po, são construídos com fortes personalidades que não desanimam
e que exercitam o dom da paciência para enfrentar as intempéries
das novas terras.
Mais adiante temos, ainda em Bruno de Menezes:
Quem os guia agora na caminhada, com um “carnaúba” de abas
largas derreado no toutiço, é João Deodato, um capataz ‘estra-
deiro’, vindo para as colônias ainda rapazote [...]
Surge, enfim, a silhueta de um povoado. Será o ponto de chega-
da? Ou terão de andar ainda, sem pouso e humilhados, ansiosos
para que possam ter sossego? (1993, p. 113)
A viagem de trem pela Estrada de Ferro Belém-Bragança, meio
de transporte dos imigrantes que buscavam as terras da Amazô-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 157
nia para fugir da seca do sertão, parecia, aos olhos do narrador,
interminável. A longa “caminhada” parece, “enfim”, chegar ao seu
destino. O narrador, industriado pelo autor empírico, parece soli-
dário com seus “personagens”, comunga de sua exaustiva espera. E
levanta questionamentos como marcas de linguagem: “Será o ponto
de chegada?” Tal enunciado provoca a solidariedade do leitor com
a “humilhação” dos migrantes que sofrem. O narrador, industriado
pelo autor empírico, divide com o leitor a “ansiedade” pela chegada
e pelo “sossego” dos viajantes. E na chegada ao destino, o narrador
manifesta-se:
Não se alvoroçam nem ficam radiantes. A alegria há muito fugiu-
-lhes dos olhos e dos lábios. Não experimentam a menor sensa-
ção ante o desconhecido que os aguarda. Aceitam o presente,
como a continuação do passado. É fria a sua antevisão do futuro.
Para eles, só há um destino: caminhar, ao sabor dos caprichos
dos fados, buscando terras de favor [...] (MENEZES, 1993,
p. 114).
Extenuados, com as trajetórias de insucesso, as personagens pa-
recem esvaziar-se de esperanças no futuro. Essa contra expectativa,
tem seu motivo de ser, afinal, a trama, futuramente, apresentará
um “jogo de virada” na intriga em que Candunga, aglutinando seu
povo, fará, junto com o funcionário socialista enviado pelo Estado
para assessorá-los, a justiça prevalecer.
Em Dalcídio Jurandir (2016) temos a narração do cotidiano na
periferia de Belém, no bairro do Guamá, como resquício da memó-
ria da Cabanagem, revolução popular ocorrida entre 1835 e 1840 na
então província do Grão-Pará. Esse fato constitui aquilo que Motta
(2013) chama de plano da metanarrativa. Os cabanos habitam o
“imaginário cultural” da cidade e por isso não são esquecidos pela
memória social, e ressurgem na lembrança de dona Inácia, a partir
da revolta dos “roceiros do Guamá”, o Guamá que é um bairro dos
mais populosos da periferia de Belém:
O bando de roceiros no Guamá e a conspiração dos quarteis
agitavam a senhora Alcântara.
Não procurava nos dois acontecimentos uma lógica ou uma ne-
cessidade. Não a comovia tanto a fome dos roceiros nem a grave
situação. Assaltavam o comércio os roceiros do Guamá? Cons-
158 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
piravam contra o governo os quarteis e as fortalezas? Pouco im-
portava à dona Inácia o motivo real ou justo de um e de outro.
No Guamá ou no Rio, o que valia simplesmente era o arrojo do
homem. Era ter peito, ou no Guamá ou no Rio, na vila militar
e naquele quartel acachapado e cinzento, fundos para a Gentil,
que conspirava devotadamente à sombra da virgem de Nazaré.
D. Inácia fazia, era certo, uma distinção entre os dois aconteci-
mentos, entre os dois tipos de homem em ação. Os caboclos do
Guamá agiam por fome. Tudo arriscavam, e por tão pouco, peça
de pano ou punhado de sal. Os militares agiam por ambição do
poder, pela má natureza do homem em querer mais, em fazer
soar a sua valentia, paixão do brilho e da fama. (JURANDIR,
2016, p. 136)
Aqui o narrador, influenciado pelo sentimento de D. Inácia, va-
loriza o “arrojo do homem”. No plano da expressão percebemos o
modo como o narrador concorda com ela: “era certo” que fizesse
distinção entre os dois tipos de homem e de acontecimentos – os que
agiam por fome e os que agiam por “ambição de poder”. No texto,
vemos as marcas da reiteração, do reforço à condição irrequieta do
gênero masculino, que ambicionava e tramava para conseguir o que
queria: “tudo arriscavam, e por tão pouco”.
Com relação ao plano da metanarrativa, temos a observar a
fábula, os modelos de mundo, o tema de fundo: “É o plano da es-
trutura profunda, relativamente mais abstrato e evasivo, que evoca
imaginários culturais. Plano em que temas ou motivos de fundo
ético ou moral integram as ações da história em uma estrutura
compositiva cultural pré-textual, de caráter antropológico” (MOT-
TA, 2013, p. 138).
Em Belém do Grão-Pará, temos:
Brigar, seja por que motivo, fome, glória, cobiça, amor ou ódio,
mas arriscar, era a exigência que dona Inácia fazia aos homens.
Em vão seu Virgílio pedia cautela, tivesse cuidado com a língua.
Que tinha Inácia de estar falando em política? Já não tivera uma
lição? Já não era mais moça para aquele frenesi. Não bastava o
lemismo?
[...] Em vão indagava o seu Virgílio: “de onde sabia ela, quem
vinha lhe trazer informações e boatos?”
– Ora, Inácia, cala o bico.
– Calar o bico. Ah se neste vale de lágrimas, o desgraçado do ho-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 159
mem calasse o bico. Os roceirinhos do Guamá abriram o bico.
Estão comendo. Abrindo o bico é que se ganha o mundo [...]
“Ou fome ou glória...” Repetia ela (JURANDIR, 2016, p. 136).
Observa-se que Dalcídio Jurandir traz as marcas de seu tempo.
Tempos difíceis e contraditórios aos olhos da personagem D. Iná-
cia: “ou fome ou glória”. Um “vale de lágrimas”, o homem pobre,
faminto é um desgraçado. Como tema de fundo aparece a política,
que não cabia para toda a gente, para os mais moços talvez. D. Inácia
era uma “lemista” – apoiava os projetos políticos do intendente de
Antônio Lemos,10 que governou Belém de 1897 a 1911.
Em outro trecho do referido romance, temos o “arrojo do ho-
mem” como um valor importante partilhado pelo narrador e pela
personagem com o leitor. “No Guamá ou no Rio, o que valia sim-
plesmente era o arrojo do homem. Era ter peito, ou no Guamá ou
no Rio, na vila militar e naquele quartel acachapado e cinzento,
fundos para a Gentil, que conspirava devotadamente à sombra da
virgem de Nazaré” (JURANDIR, 2016, p. 136). A devoção à virgem
de Nazaré aparece como metanarrativa; trata-se da divindade que
habita os “imaginários culturais” (MOTTA, 2013, p. 138) de parte
da população paraense. A padroeira dos paraenses que merece de-
voção de todos, até dos conspiradores.
Em Bruno de Menezes temos a ênfase do cenário da pobreza:
“[...] aceitam o presente, como a continuação do passado. É fria a
sua antevisão do futuro. Para eles, só há um destino: caminhar, ao sa-
bor dos caprichos dos fados, buscando terras de favor” (MENEZES,
1993, p. 114). Aos pobres imigrantes, vistos como “flagelados” em
boa parte da literatura da época, não resta escolha. “Só há um des-
tino”. Não cabe parar, lamentar, voltar, refletir. É preciso caminhar.
Caminho sem volta, porque não podem ser protagonistas de seus
destinos. Necessitam de favores dos que podem lhe ajudar. “Dispos-
tos à dura caminhada, pouco se modifica a situação em relação ao
que sofreram, na fuga dos sertões, nos embarques e transbordos”
(MENEZES, 1993, p. 113). A ficção traz como plano de fundo a saga
dos nordestinos que fugiram da seca em busca de uma situação eco-
nômica melhor para si e para os seus. Mas o que encontram, à vista
do narrador, é pouco diferente do que deixaram para trás.
160 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
6. Considerações finais
As narrativas produzidas por Dalcídio Jurandir e Bruno de
Menezes nos apontam questões interessantes para refletirmos sobre
o modo como os textos são construções culturais de uma época.
Militantes da literatura e da política, os “moços” da Academia do
Peixe Frito, partilham com o leitor as preocupações modernizantes e
propuseram uma inversão do olhar do leitor até então acostumado a
ver nas páginas dos livros e jornais apenas a “fina flor” da sociedade
da Belle Époque, advinda das classes altas e da gente branca. Os moços
do “Peixe Frito”, afinal, tatuaram o pensamento da elite afrancesada
com as tonalidades da negritude e das vozes periféricas, e nesse
diapasão contribuíram para modificar os olhares provincianos,
preparando-os para a nova estética.
Os autores e as obras analisadas aqui exibem as astúcias cotidia-
nas (CERTEAU, 1994) dos homens pobres, que lutam para sobrevi-
ver ou que lutam para posicionar-se diante das desigualdades econô-
micas, sociais, políticas e culturais. Trazem as marcas históricas da
Amazônia e suas crenças, da Amazônia que acolheu os migrantes,
da Amazônia religiosa, política, da Amazônia farta de sabores.
Nessa literatura de homens negros, a visão hegemônica (COS-
TA, 2011) sobre a região é desconstruída. Tem-se a representação
de vozes, não como subalternidade, mas um jogo de correlações
de forças, no qual os personagens não são desbotados, mas trazem
suas histórias, memórias, que estão representadas quando Bruno
de Menezes e Dalcídio Jurandir trazem à cena personagens como
Libânia, a cabocla que, explorada, não se deixa vencer e que muito
apropriadamente (o que evidencia o plano do discurso de Motta), é
caracterizada pelo narrador como aquela que é a “boca de índia que
comeu cristão” (JURANDIR, 2016, p. 67).
Para tecer tais intrigas, a partir de uma linguagem e pontos de
vista diferentes, tanto Bruno de Menezes quanto Dalcídio Jurandir,
certamente, aproveitaram bastante os encontros regados à cachaça
e peixe frito, em que os intelectuais que então emergiam das perife-
rias de Belém, ajudavam a redesenhar uma parcela significativa da
história da Amazônia paraense.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 161
Notas
1
Uma versão anterior deste texto foi defendida no 40º Encontro Anual da AN-
POCs, em Caxambu, MG, 2016, com o título “Academia do Peixe Frito: diálogos e
intersecções entre Literatura, Jornalismo e Ciências Sociais na Amazônia do século
XX”, apresentado no seminário 02: “A Literatura na perspectiva das Ciências So-
ciais”. Este texto, no entanto, sofreu inúmeras modificações para esta publicação.
2
Aimé Césaire, num escrito para a revista L’étudiant noir, cria o conceito “Negritu-
de”. Com ele, Césaire reivindica espaço político à cultura negra e suas identidades
perante a cultura europeia dominante, francesa, em especial, donde os embates
eram mais intensos; a cultura europeia, talvez nem se precisasse afirmar marcava-se
como opressora e arrogante. Mais tarde, o conceito de Césaire foi ressignificado
por Léopold Senghor, quando enfatiza a polêmica (e depois descartada) tese que
dá conta de uma possível dicotomia ente brancura e negritude, entre a razão helêni-
ca e à emoção negra. A Negritude – ou seria melhor falar-se hoje em Negritudes? –
foi o estímulo à Consciência Negra que se espalhou pelos quatro cantos do mundo
onde transitam cidadãos que vivenciaram, de algum modo, a diáspora africana.
Para nós, da Amazônia, a Negritude se sedimenta nas reflexões essenciais e lúcidas
de Vicente Salles a partir de O negro no Pará, sob o regime da escravidão.
3
Subentendem-se como capitais da Amazônia: Belém, capital da Amazônia orien-
tal; Manaus, capital da Amazônia ocidental. As duas cidades exercem papel de
influência fundamentais em cada um desses espaços, e “disputaram”, em fins do
século XX, o título de “Paris equatorial” (NUNES, 2007, p. 56).
4
Aqui referimo-nos à descrição irônica da passante luxuosa nas ruas de Belém
Pós-Belle Époque, no romance Belém do Grão-Pará, romance escrito na década de 50,
mas somente publicado pela Martins Editora, de São Paulo, em 1960. Trata-se de
uma desconstrução da “passante” baudelairiana, modelo de fugacidade na cidade
grande, de As Flores do Mal.
5
A Belém Nova, veículo da vanguarda modernista na Amazônia paraense, pode
ser consultada na biblioteca da Academia Paraense de Letras, situada na rua João
Diogo, s/n, centro velho da cidade de Belém, depositária da herança do referido
periódico que foi fundado pelo poeta, autor de Batuque.
6
Jornal O Liberal, 25/10/96, caderno Cartaz, p. 03.
7
Embora vocacionada a tornar-se símbolo libertário e negritudinista, já a partir
de seu primeiro número, a Prèsence Africaine, esclarece: “Esta revista não se coloca
na obediência de nenhuma ideologia filosófica ou política [...] Ela pretende abrir-
-se à colaboração de todos os homens de boa vontade (brancos, amarelos, negros)
susceptíveis de nos ajudarem a definir a originalidade africana e a colocar a sua
inserção no mundo moderno” (FERREIRA, 1982, p. 27).
8
Sabe-se que a expressão negritudinista é polêmica. Adotamos aqui aquela que de-
fende os valores étnicos e éticos do povo negro de África e os dos afrodescendentes
espalhados pelo mundo. Neste rol, inserimos Bruno de Menezes, por exemplo.
Lúcida parece ser a explicação de Manuel Ferreira na introdução da antologia de
Poesia negra de expressão portuguesa. Vejamos: “... Tal foi sempre a posição dos
mais lúcidos construtores da negritude para a qual foram encontradas várias defi-
nições (“o conjunto dos valores culturais de África”, uma das de Senghor), e que
incorporou várias ações, atitudes e reflexões, percebendo-se nelas uma densa rede
de significações desde ‘raça desprezada’, ‘revolta contra o branco’, ‘recusa da assi-
162 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
milação’, ‘a cor’, a ‘reivindicação’, até tomada de consciência por parte do negro do
seu destino, da sua história, da sua cultura.” (FERREIRA: 1982, p. 26-27).
9
Em 1993, durante o centenário do poeta Bruno de Menezes, o Centro de Estudos
e Defesa do Negro do Pará, através de seu corpo de baile, coreografou uma qui-
zomba, inspirada no poema de Bruno de Menezes. O número foi apresentado em
praças públicas de Belém. Em 2003, o coro cênico da Universidade da Amazônia
levou aos palcos uma coreografia, assinada por Ronald Bergman, “extraída” do
poema “Batuque”.
10
“Antônio Lemos é detentor do título de mais poderoso e recorrente mito político
da Amazônia. A urbanização belenense, projetada por Lemos no final do século
XIX e início do XX, é recordada pela população como um período próspero da
cidade. Ele foi responsável por programar, para Belém, uma série de modificações
que iriam delimitar o espaço urbano e os direitos e deveres dos cidadãos. O lema
de Lemos era o mesmo do atual disposto na bandeira da República Federativa do
Brasil: “ordem e progresso”. Disponível em: http://www.ufpa.br/historia/index.
php?option=com_content&view=article&id=30:antonio-lemos-deu-um-passo-ao-
-futuro-. Acesso em 20 set 2016.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 163
Anexo
I: “A Academia do Peixe Frito e a Música no Pará”
A musicista, professora universitária e pesquisadora, que é filha
do poeta Bruno de Menezes, fala sobre a Academia do Peixe Frito, a
relação de literatura com a música, abolição e Negritude no vídeo do-
cumentário “O Negro no Pará: 50 anos depois”, dirigido por Afonso
Gallindo, publicado pelo Instituto de Artes do Pará em 2005:
“Este grupo que depois focou a sua pesquisa no homem do Ver-
-O-Peso, [e] nós sabemos que o Ver-O-Peso é um verdadeiro viveiro
humano, lá a miscigenação está presente. Temos negros, descenden-
tes de negros, de índios. Temos as cores maravilhosas das velas, dos
barcos. Temos os odores das frutas, das comidas e do peixe frito...
E este grupo também conversando com os caboclos nas canoas, re-
solveu colocar... “o nosso nome vai ser ‘Grupo do Peixe Frito’...” o
negro já do terreiro, do quintal, já mestiçado, trabalhado por Gentil
Puget, e o negro do ritual, trabalhado por Jaime Ovalle, surgira,
com certeza, já daquelas pesquisas do trabalho pioneiro da literatu-
ra no Pará. Isto é uma tese que defendemos: sem os primeiros lite-
ratos no Pará, sem aquela onda de renovação da literatura no Pará,
é possível que a renovação da música no Pará não tivesse ocorrido.
[Antes] os artistas todos, músicos, se posicionaram a favor da abo-
lição da escravatura. Havia as cartas abolicionistas por todo o Brasil,
que eram lidas em grandes recitais. Há, por exemplo, referenciais
disto na vida de Carlos Gomes... Aqui em Belém não houve propria-
mente uma leitura de carta abolicionista no Teatro da Paz, até onde
conseguimos encontrar. Mas na ilha de Benevides, hoje município de
Benevides, antes da promulgação da Lei Áurea, houve a libertação
de dois escravos. A presença deste ato tão festivo na libertação destes
poucos escravos nos mostra um Pará alerta para o problema.
Infelizmente sabemos que a libertação dos escravos não foi
acompanhada de uma base social. [O negro] ficou perdido pelas
calçadas, bebendo, sem um rumo na sua vida. Alguns até aspiravam
voltar à casa de seus senhores. Pois bem, é este homem um tanto
perdido, que desconhecia a própria força de sua cultura, que vai ser
objeto da pesquisa de poetas como Bruno de Menezes e de roman-
cistas como Dalcídio Jurandir e músicos como Waldemar Henrique,
Jaime Ovalle e Gentil Puget, para citar os paraenses...”
164 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Referências
BRITO, Lenora Menezes de. “Academia do Peixe Frito”, In:
GALLINDO, Afonso. O Negro no Pará: 50 anos depois, vídeo
documentário, dirigido por Afonso Gallindo, Belém, Instituto de
Artes do Pará, 2005.
CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade. 9. ed. Rio de Janeiro,
Ouro sobre o Azul, 2006.
CULLER, Jonhatan. Teoria literária: uma introdução. Trad. Sandra
Vasconcelos. São Paulo: Becca, 1999.
COSTA, Vânia, M. T. À sombra da floresta: os sujeitos amazônicos
entre estereótipo, invisibilidade e colonialidade no telejornalismo
da Rede Globo. Niterói: PPGCOM/UFF, 2011.
CUNHA, Euclides da. À margem da história. Fundação Biblioteca
Nacional, 1909. Disponível em http://www.bibvirt.futuro.usp.br.
Acesso em: 05 mar. 2008.
DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (Orgs.). Métodos e técnicas de
pesquisa em comunicação. São Paulo: Atlas, 2005.
FARES, Josse; NUNES, Paulo. Bruno de Menezes: farol e espelho de
uma raça. IN: MENEZES, Bruno. Batuque. 7. ed. Belém, Edição do
Autor, 2005.
FIGUEREDO, Aldrin Moura de. Eternos modernos: uma história
social da arte e da literatura na Amazônia, 1908-1929. IFH/
Unicamp, Campinas, 2008.
JURANDIR, Dalcídio. Belém do Grão-Pará. São Paulo: Martins, 1960.
______. Belém do Grão-Pará. 3.ed. Belém: Marques Editora, 2016.
LAU, Percy. Tipos e aspectos do Brasil. 5. ed. Rio de Janeiro, Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística/Conselho Nacional de
Geografia. 1949.
LEAL, Luiz Augusto Pinheiro. Gladiadores de escassa musculatura:
sociabilidade, literatura e responsabilidade intelectual na Amazônia.
Belém, Instituto de Artes do Pará, 2014.
MENEZES, Bruno. Obras completas. Poesia. Belém, SECULT, 1993.
______. Obras completas. Ficção. Belém, SECULT, 1993.
______. Batuque. 7 ed. Belém, Edição do Autor, 2005.
MOREIRA, Sonia Virgínia. Análise documental como método e
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 165
como técnica. In: MOTTA, Luiz Gonzaga. Análise crítica da narrativa.
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2013.
NUNES, Paulo. Útero de areia: uma leitura de Belém do Grão-Pará,
de Dalcídio Jurandir. Belo Horizonte, PPGL/PUCMinas, 2007.
SALLES, Vicente. O negro no Pará: sob o regime da escravidão. 3ª
edição. Belém: Instituto de Artes do Pará, 2005.
SCHWARCZ, Lílian M. O espetáculo das raças: cientistas, instituições
e questão racial no Brasil – 1870-1930. São Paulo: Companhia das
Letras, 1993.
SOUZA, Márcio. Breve história da Amazônia: a incrível história de
uma região ameaçada conta com o apaixonado conhecimento de
causa de um nativo. 2.ed. Rio de Janeiro: Agir, 2001.
______. A literatura na Amazônia: as letras na pátria dos mitos.
Disponível em: http://www.marciosouza.com.br/interna.
php?nomeArquivo=vida. Acesso em: 26 mai. 2008.
VELHO, Otávio Guilherme. Capitalismo autoritário e campesinato:
um estudo comparativo a partir da fronteira em movimento. Rio
de Janeiro, São Paulo: Difel, 1979. Disponível em: http://www.
republicaveropeso.com.br/academiapeixefrito. Acesso em: 05 de
setembro de 2016.
166 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Dramaturgia e contística no Amazonas:
Nereide Santiago, Zemaria Pinto,
Vera do Val e Allison Leão
Rita Barbosa de Oliveira
Ofício de dramaturgia
A dramaturgia no Amazonas tem sido contada por alguns dos
artistas envolvidos nas diferentes atividades que essa arte re-
quisita para a apresentação do espetáculo, por meio de publica-
ções de suas peças e de textos teóricos, críticos, como também
em testemunhos por eles fornecidos a pesquisadores, que estes
juntam às notícias de jornais compiladas nos arquivos desses veí-
culos de comunicação.
Destacamos dessa produção O palco verde, de Márcio Souza e os
volumes I, II e III de Teatro: Márcio Souza, reunião de parte das peças
desse dramaturgo; No palco nem tudo é verdade, de Ediney Azancoth,
em que ele resgata, com humor, passagens sobre sua atividade no
teatro e de seu círculo de amigos e conhecidos em Manaus. Teatro:
guia prático, de Domingos Demasi, Márcio Souza, Efraim Mourão,
Daniely Peinado, Carla Menezes e Guta Rodrigues; e Sábados detona-
dos, livro que reúne, além de material iconográfico, parte de textos
de Aldisio Filgueiras, Daniely Peinado, Denni Sales, Márcio Souza,
Robson Ney Costa, Carla Menezes e Efraim Mourão, escritos para
serem encenados no programa Teatro Experimental do SESC no
Amazonas – TESC.
Dentre os historiadores, citamos Selva Vale da Costa e Ediney
Azancoth, na publicação de grande fôlego que fazem em três volu-
mes, abrangendo o período de 1944 até 2000, intitulados Cenários
de memória, Nos bastidores da lenda e Amazônia em cena. Dentre os
críticos, aludimos à gama de autores cujos textos foram organizados
por Marcos Frederico Krüger e Allison Leão no livro O mostrador da
derrota: estudos sobre o teatro e a ficção de Márcio Souza.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 167
Multiexperiências na dramaturgia: Nereide Santiago
Do material em que se escreve a história da dramaturgia no
Amazonas, direcionamos a discussão para o livro Amazônia em cena:
grupos teatrais em Manaus (1969-2000), de Selda Vale da Costa e Edi-
ney Azancoth (2014, p. 129-144), que informa ter a atividade de
Nereide Santiago surgido no contexto da década de setenta, tendo
sido, no entanto, iniciada sua incursão no teatro na área de mon-
tagem ainda no final dos anos sessenta, junto ao Grupo Decisão,
cujos espetáculos combinavam música e poesia. Dessa década, Costa
e Azancoth, em Cenários de memórias: movimento teatral em Manaus
(1944-1968), registram a atuação de Nereide Santiago, ainda como
estudante do curso de Letras da Universidade do Amazonas, atual
UFAM, e trabalhando em algumas das peças apresentadas pelo Tea-
tro Universitário do Amazonas: nas peças O homem da flor na boca e
O diário de um louco foi contrarregra (2001, p. 481 e 492).
No final dos anos sessenta, segundo os autores, Nereide San-
tiago fez estudos de teatro e defendeu uma tese fora de Manaus.
Quando retornou, nos anos setenta, participou da montagem da
peça Transe, do Grupo Laboratório da Aliança Francesa. A peça foi
premiada no I Festival Literário do SESC. No mesmo ano da pre-
miação, esse grupo passou a se chamar Grupo de Teatro da Alian-
ça Francesa, e, na primeira peça, intitulada Exercício n.º 1, Nereide
Santiago assumiu as funções de roteirista, diretora e cenógrafa, e
exerceu a função de diretora nas três peças subsequentes, O teatro
das maravilhas, As desgraças de uma criança e Relações naturais. Em
seguida, Nereide Santiago criou o Grupo Teatral A Rã Qi Ri, no
qual desenvolveu o projeto Demônios de Qorpo Santo, ficando sob sua
direção Mateus e Mateusa, Hoje sou um, amanhã outro e A separação
dos dois esposos, de Qorpo Santo, além de algumas peças de outros
autores e outras de sua autoria.
Observa-se que Nereide Santiago, diretora da atual Companhia
de Teatro A Rã Qi Ri, é dramaturga na acepção completa do termo,
pois, além de autora e diretora do texto, atua na cenografia, ilumina-
ção, fotografia e sonoplastia. Promove também oficinas sobre os ele-
mentos da dramaturgia, dentre elas O objeto e o espaço da cenografia.1
Santiago tem participado de eventos de teatro em Manaus em con-
junto com profissionais da área, como na trilogia Demônios de Qorpo
Santo, dividindo o trabalho com a equipe da Companhia Vitória Ré-
168 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
gia, na década de noventa; partilhando com Lileana Mourão a adap-
tação de Mateus e Mateusa em 1992; partilhando com Nonato Tavares
e Paula Andrade a peça Hoje sou um, amanhã outro, texto adaptado
em 1993 e dirigido em 2011;2 partilhando, novamente, com Lileana
Mourão o texto adaptado de A separação dos dois esposos, em 1994.
Na continuação da atividade com a dramaturgia, na década de
90, Nereide Santiago escreveu os textos Os teus olhos quero comer.
É bom! (1997) e Tudo pára... (1998). Na primeira década do ano
2000, escreveu e dirigiu Nós atados (2001), publicado em 2012, Rei
por acaso (2001) e Recriação dos mitos Tikuna (2009). No processo
criador de Nereide Santiago, a sonoplastia e os demais recursos
teatrais desses textos são posteriormente planejados até a ence-
nação, sendo, como se informou anteriormente, quase sempre, as
peças dirigidas por ela.
Em 2011, a teatróloga trabalhou na sonoplastia da peça A busca,
com Cleonor Cabral, em cujo folheto de divulgação se lê:
O texto “A busca”, classificando-se como não-dramático, carac-
terística do teatro não contemporâneo, apresenta quadros que
recriam a angústia de personagens em contínuo deslocamento
no tempo e no espaço.
A montagem do espetáculo “A busca” associa o uso de outras
linguagens artísticas como o vídeo, além de outras formas de ex-
pressão teatral como o teatro de sombras, bonecos, pantomima.
A sua apresentação pode se dar tanto no palco italiano quanto
no espaço semi-arena, usando poucos elementos em cena, valo-
rizando o movimento e o gestual dos atores.3
O diretor de teatro Jorge Bandeira, no artigo A busca do teatro de
Nereide Santiago – o caminho de Santiago, escreve sobre a importância
da Companhia de teatro A Rã Qi Ri para o Estado do Amazonas,
devido ao número reduzido de pessoas envolvidas com a dramatur-
gia na região, e analisa a encenação da peça A busca, apresentando
alguns pontos que, segundo ele, podem ser discutidos para serem
modificados em montagens seguintes. Como toda experimentação,
alguns elementos da cenografia e alguns movimentos e falas dos
atores são observados pelo rigor desse crítico de teatro.
O texto de Nereide é como um patchwork, um caleidoscópio
onde o espectador acompanha fugas e desaparecimentos, num
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 169
jogo lúdico onde o ator caminha para um nada, onde os perso-
nagens ecoam vertentes teatrais de um Ionesco ou de um Be-
ckett, e isso é algo inevitável, pois há esta contaminação bem-
-vinda no texto e na encenação de Nereide Santiago, que abre
seu caminho com os recursos honestos que possui, seus atores e
a cenografia barroca, juntamente com seu figurino que também
segue uma linha barroca. E a inserção dos vídeos de O Rio e Em
Marte complementam esta sensação de perda, de algo trágico, de
uma filosofia de Heráclito de Éfeso, de algo que se renova, mas
que está fadado a um jogo de eterna repetição. Palavras que se
repovoam, que se multiplicam, que são minimalismos semânti-
cos, que sempre voltam a ribombar em nossos ouvidos, nesta A
BUSCA que leva ao nada, ao lugar nenhum. Ou ao que já conhe-
cemos, ao cotidiano banal e triste, ao enfadonho. (BANDEIRA,
2011, p. 179)
Assim, o estudo aprofundado de Bandeira direciona-se para a
demonstração do caráter pós-dramático da citada peça.
Em 2012, Nereide Santiago participou como cenógrafa da peça
Otelo solo, de autoria de Zemaria Pinto, com a performance de Arnol-
do Chaves, na 9ª Mostra de Teatro do SESC, em Manaus. No folheto
dessa peça, datado de junho de 2013, Nereide Santiago informa so-
bre o desafio da sua montagem:
Arnoldo Chaves me apanhou de surpresa. Procurava alguém
para ajudá-lo na montagem deste solo, uma adaptação escrita
por Zemaria Pinto. Então me cativou pela paixão com a qual
expôs seu projeto e a insistência para que eu o aceitasse nessa
aventura. Shakespeare, uma aventura. Eu, desviando do bardo
monstruoso, também trabalhei com adaptações do seu teatro
para o cinema, nas aulas e pesquisas na UFAM: A tempestade,
Macbeth, Otelo. Agora, falar do ator Arnoldo Chaves... ator en-
tregue a sua arte, quando o preparo do corpo e da voz se im-
põem antes dos ensaios. Um autor exigente, autocrítico, nem
sempre satisfeito. A incansável pesquisa dentro do espetáculo.
Stanislavsk, Artaud, Grotowski e... Brecht, este indispensável
no monólogo “Otelo Solo”, de múltiplas vozes: do dramático
ao épico e... vice-versa, o corpo falando, a palavra dizendo.
O resultado se pretende uma fusão das diversas técnicas e,
penso, o performer Arnoldo Chaves as absorve de maneira
grandiosa.4
170 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
As leituras basilares que orientam a criação teatral de Nereide
Santiago aparecem, em síntese, na sua própria fala.
Nos anos de 2015 e 2016, Nereide Santiago dirigiu readapta-
ções de sua autoria nas ocasiões em que trechos de suas peças foram
reencenados, assim como continuou sua atividade de adaptação de
trechos de obras de autores da dramaturgia que permanecem quase
desconhecidos do público. A jornalista Mayrlla Motta, do Jornal A
Crítica, escreve sobre duas dessas adaptações de Nereide Santiago,
intituladas Recriando mitos Tikunas e Retratos de Qorpo Santo:
Para produzir o espetáculo “Recriando mitos Tikunas”, a direto-
ra explica que extraiu trechos de uma peça encenada em 1996.
“Falamos sobre o confronto dos indígenas para com a coloniza-
ção. Essa peça é sobre como tratamos a mitologia tikuna, a partir
da visão do “homem branco”. (...) Para Nereide, o espetáculo
visa resgatar os costumes da etnia e fazê-los conhecidos. “Não
vemos e também não conhecemos sobre a mitologia indígena.
Pois com o passar do tempo fomos afastados dela. Queremos
resgatar isso”, defende.
Já o espetáculo “Retratos de Qorpo Santo”, é uma releitura de
obras como “Relações naturais” e “Um parto”, do dramaturgo
José Joaquim de Campos Leão. “Fizemos uma adaptação da
obra escrita por ele no século 19, mas com características mais
centradas. Recortamos alguns trechos e adaptamos nessa peça”,
explica Nereide.5
A respeito da peça Recriando mitos Tikunas, Ligia de Andrade
(2013) discute o modo como se dá a tradução ou transcrição cultu-
ral de alguns mitos Tikuna para a dramaturgia de Nereide Santiago.
Segundo Andrade, a montagem realiza a conexão do teatro com as
mídias; o público é estimulado a interagir com a ação representada
em algumas passagens da peça. Dessa maneira, Nereide Santiago,
ao mesmo tempo, desconstrói a prática teatral tradicional, canôni-
ca, e assume o Teatro do descobrimento, pelo qual reabre a discus-
são a respeito da ideia imposta de que os países da América foram
descobertos, contesta a historiografia oficial e reescreve a história
dos povos vencidos.
Carolina Alves de Abreu escreve que a peça Nós atados, cujo
texto foi publicado em 2012 pela editora Valer, trata da angústia e
da solidão dentre as maneiras plurais de tratar da existência e que
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 171
o dramaturgo precisa mostrar a vida precária e ao mesmo tempo
misteriosa. Há, na encenação, a provocação política do público no
sentido de que é problematizada a emergência da transformação de
padrões sociais. E ainda, segundo Abreu,
com a carga existencialista e as técnicas do teatro épico brechtia-
no, a peça modela-se entre constantes diálogos que, em alguns
momentos, parecem monólogos, gerando no leitor/espectador
a ambiguidade necessária, posto que os temas evidenciados em
tais conversas correspondem à vida em sua faceta transitória,
mutável: o que se pensava em determinado momento, logo após
este, não mais se pensará. O ser humano e suas vivências como
processual realidade.6
Portanto, nos textos teatrais escritos por Nereide Santiago, o
desconforto, o mal-estar e a busca dos personagens contagiam o
público e, junto com ele, minam os alicerces e as pseudoverdades da
vida padronizada e automatizada.
A trajetória artística de Nereide Santiago mostra sua atuação
em quase todas as esferas da produção da dramaturgia, desde a
escrita de um texto de sua autoria até adaptações aproximadas ou
muito afastadas do texto original, assim como mostra a consolida-
ção de seu trabalho nos campos especificamente profissionais do
teatro que são a sonoplastia, a iluminação, o figurino, a maquiagem,
a fotografia, a cenografia e principalmente a direção.
Na última atividade, a autora trabalha não apenas com a cons-
trução tradicional do teatro como também trabalha com a descons-
trução dos conceitos da escrita, montagem e encenação da peça.
Por isso, Nereide Santiago promove oficinas de teoria e prática da
dramaturgia sobre temas como os objetos em cena, o corpo, o ator,
a arte de encenar como um jogo – e dirige níveis diferentes de mon-
tagens teatrais, desde a tradicional, que exige a participação de es-
pecialistas dos vários campos de trabalho, até a performance, que
muitas vezes dispensa parte ou quase todos os profissionais daqueles
campos de ação, concentrando muito mais o foco para o ator.
No âmbito da desconstrução das formas tradicionais de criação
teatral, observa-se o diálogo de Nereide Santiago com a obra de
autores do teatro do absurdo ou do insólito, de Eugène Ionesco, em
que alguns temas, considerados dramáticos na vida cotidiana, são
tratados de modo satírico, enquanto os frequentemente considera-
172 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
dos ridículos são encenados de modo dramático para, ao mesmo
tempo gerar o maravilhamento e o horror diante de fatos que pro-
vocam o estranhamento e geram a reflexão sobre a falta de sentido
da existência.
Em todos os casos, Nereide Santiago trabalha com a participa-
ção do público, o qual geralmente é instigado a opinar, a tocar em
objetos e a interagir com os atores.
O trabalho mais recente de Nereide Santiago está sendo cons-
truído em parceria com Rodrigo Verçosa, coautor da peça. Trata-se
de Cândido, uma adaptação do texto Cândido ou o Otimismo (roman-
ce filosófico ou romance de ideias), de Voltaire. Espera-se que tal
obra seja preparada ao longo de 2017, para apresentação futura.
Ecletismo de Zemaria Pinto
Zemaria Pinto é funcionário da PRODAM. Tem publicado li-
vros sobre teoria literária, antologia de escritores no Amazonas, dos
quais escreve crítica literária, textos de dramaturgia, narrativa de
ficção para crianças e poesia. É autor do blog “Palavra do fingidor”,
em que insere informações de sua produção e de artistas não apenas
da palavra como também das artes plásticas e do cinema. É colabo-
rador de poemas, contos e de textos de crítica nos blogs e sites, tais
como a “Revista do Haijin”, “Jornal de Poesia”, “Antônio Miranda”
e “Pensador”. É um escritor que utiliza as recentes tecnologias para
divulgar sua produção e, por isso, parte de seus textos estão dispo-
níveis em diversos sites.
Seu livro O texto nu (2009) trata com leveza as teorias da nar-
rativa de ficção, da poesia e do teatro, demonstrando que o fazer
artístico se aproxima ou se afasta da tradição. Seu livro O conto no
Amazonas (2011) combina a teoria e o histórico do conto com algu-
mas narrativas da cultura indígena da Amazônia, de contistas ante-
riormente ao movimento cultural Clube da Madrugada, de autores
vinculados a esse movimento e de outros que escrevem posterior-
mente ao movimento, a partir da década de 90.
Uma de suas mais recentes publicações é a antologia de poesia
Lira da Madrugada (2014), que apresenta comentários sobre o Clube
da Madrugada no momento de seus 60 anos. O livro foi produzido
em parceria com Mauri Mrq, que musicalizou e gravou alguns poe-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 173
mas dos membros do Clube da Madrugada. A particularidade desse
livro é que, de um lado, estão os ensaios de Zemaria Pinto, do outro,
as peças musicais de poemas de alguns membros do citado Clube,
feitas por Mauri Mrq, e um CD com essas composições.
Zemaria possui também livros de poemas publicados e algumas
peças de teatro, grande parte já tendo sido encenada. A peça Nós,
Medeia recebeu o primeiro lugar no Concurso de Textos Teatrais
Inéditos, promovido pela Secretaria da Cultura do Amazonas em
2002, sendo, o texto, publicado em 2003. A montagem e a direção,
em 2011, foi de Ednelza Sahdo, que assim se refere ao texto da peça:
Zemaria Pinto colocou o texto clássico num universo relaciona-
do diretamente à mulher, representando as mulheres de todas as
épocas. A Medeia mítica representa todas as figuras femininas.
A Medeia medieval é baseada nas mulheres daquele período que
sofriam com perseguições religiosas por serem consideradas
bruxas, assim como a figura original. A Medeia contemporânea
é a nossa mulher de hoje, porém mais fragilizada por conta do
tempo.7
Segundo Jony Clay Borges, nessa montagem, o músico Cleber
Cruz compôs uma trilha sonora para as Medeias da peça, e as can-
ções são interpretadas por Simone Ávila.8
A respeito desta peça, Eliane de Freitas (2014) observa o jogo
de aproximação e distanciamento com a tragédia de Eurípides, e
apresenta as implicações das mudanças ocorridas entre a Medeia
da tragédia clássica e as Medeias medieval e contemporânea, cria-
das por Zemaria Pinto. Para a autora, o afastamento consiste em
que, na pós-modernidade, não há presságios nem tentativas de mo-
ralizar a sociedade, não há deuses para serem responsabilizados
pelos erros, “o futuro é imediato e a sorte depende das ações pra-
ticadas” (2014, p. 177).
Em pesquisa realizada no formato de iniciação científica entre
2015 e 2016, no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cien-
tífica da Universidade Federal do Amazonas, em que a autora deste
texto orientou Páscoa Duarte, a peça de teatro de autoria de Zema-
ria Pinto, Nós, Medeia, foi um dos objetos de análise comparada com
a tradução da Medeia de Eurípedes feita por Mário da Gama Kury.
Naquela ocasião, segundo Páscoa Duarte e Oliveira, destacou-se a
organização de Nós, Medeia em três atos e,
174 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
segundo o autor, também em três planos, a saber: o mitológico,
o medieval e o contemporâneo. O primeiro plano equivale à
história clássica, o segundo se passa numa cela de Inquisição em
algum lugar da Europa, e o terceiro é ambientado em um bar em
um tempo que poderia ser o dos “dias atuais”. Percebe-se que os
dois últimos planos são os que mais evocam a recriação poética
em toda sua criatividade, em que o autor, partindo do mito e da
figura da Medeia, recria a sua história em outros ambientes e
tempos histórico-sociais.
Nos três planos dramáticos Medeia enfrenta a mesma situação
da personagem de Euripedes: Jasão abandona sua mulher
Medeia quando fica noivo de Gláucia, filha do rei Creonte,
de Corinto, justificando que não apenas ele terá vantagens no
casamento, como também a condição social dos filhos será
de príncipes. No plano mitológico da peça de Zemaria Pinto,
o novo casamento ocorre pelos motivos que já conhecemos.
Por outro lado, a personagem Jasão mostra preocupação com
Medeia e os filhos, após decidir casar novamente. (DUARTE;
OLIVEIRA, 2015, p. 12).
Segundo Páscoa Duarte e Oliveira, enquanto no plano medieval
de Nós, Medeia Jasão recebeu uma licença especial do Papa, que o
libera dos votos de casamento para contrair novas bodas com a filha
do Governador, e Medeia está sendo interrogada por um cardeal,
no plano dramático contemporâneo, Jasão adquire uma profissão
rentável graças a Medeia e, em seguida, abandona-a para assumir
relação amorosa com uma mulher mais jovem que ela.
Nos planos mitológico e medieval o casamento de Jasão é por
interesse, como na peça de Eurípedes. No plano medieval, a Igreja
Católica declara seu lado machista quando trata o matrimônio de
duas maneiras, pois pune Medeia e negocia-o com Jasão, que infrin-
ge uma das regras do casamento (a de que o casamento era uma
união indissolúvel).
Duarte e Oliveira chamam a atenção para a atuação do coro
nessa peça:
Na recriação de Zemaria Pinto, o Coro, em sua primeira apari-
ção, não possui uma divisão especial e interage, brinca com a
plateia, como podemos ver no trecho: “(Mudando bruscamente
de tom) // Ah, meus irmãos das coxias, // apressemo-nos; //
mesmo por trás destas máscaras, // não nos furtemos de ver:
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 175
// já tem gente bocejando...” (PINTO, 2003, p. 22). Depois, o
Coro é dividido em Velhos e Jovens, o primeiro tenta consolar
e aconselhar Medeia (a mítica e a contemporânea) a não fazer
nada temerário, enquanto o segundo provoca e atiça Medeia,
observa-se um desacordo entre o Coro que desempenha a fun-
ção de conselheiro e de opinião pública, como se seus mem-
bros estivessem dizendo o que um espectador poderia pensar
e querer dizer a uma pessoa na situação de Medeia. Em alguns
momentos, o Coro é apresentado sem essa divisão e é ele quem
encerra a peça. (DUARTE; OLIVEIRA, 2015, p. 12).
As Medeias, nos três planos dramáticos, fazem considerações
sobre a situação da mulher ao longo da existência. A primeira avalia
que, em fala anterior havia dito que é dona de seu destino, quase ao
final da peça afirma que “o rio se movimenta/ se renova, se trans-
forma/ como toda coisa viva.” (PINTO, 2013, p. 23 e 72), a segunda
mantém esperança de que a situação da mulher se modifique futu-
ramente, e a terceira Medeia afirma que a condição da mulher não
se modifica.
A linguagem empregada no texto de Nós, Medeia é a coloquial,
descontraída, incluindo termos referentes ao baixo material. Esse é
um dos recursos que também ligam a mesma personagem aos pla-
nos temporais diferentes nos atos da citada peça.
Assim, a recontagem do mito de Medeia que tem magnetizado
os dramaturgos, ao longo da história da arte, ganha a tríplice elabo-
ração, pois esse, como todo mito, é tão complexo que exige olhares
multiplicados.
Algumas das peças de teatro escritas por Zemaria Pinto foram
encenadas pela Companhia Vitória Régia: Papai cumpriu sua missão,
Onde comem 3 comem 6 e Otelo solo. A primeira, dirigida por Nonato
Tavares, foi apresentada em maio de 2000 no Cine Teatro Guarani,
e depois nos teatros SINTTEL e Gebes Medeiros, estendendo-se as
apresentações por dois anos. No site da Companhia Vitória Régia,
encontramos a sinopse dessa peça:
Na trama, um pai de família workaholic desaparece do mapa sem
mais nem menos. A mulher e os dois filhos, sabendo que ele
possuía um seguro de vida, animam-se em receber o dinheiro
até que surge um arremedo de policial para tentar elucidar o
sumiço. No fim, descobre-se que tudo não passou de um golpe
176 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
do chefe da família, que foge com a secretária para o Caribe.
A pedido de Nonato, que assumiu a direção do espetáculo, Ze-
maria inseriu no texto uma porção de referências à realidade
local e nacional daquela época – velhas figuras da política ama-
zonense, como Amazonino Mendes e Alfredo Nascimento, não
foram poupadas.9
A peça Onde comem 3 comem 6 foi encenada no formato de “te-
atro de rua” na cidade de Novo Airão, em 2014, e posteriormente,
em Iranduba e em Manacapuru. Segundo Jony Clay Borges,
“Onde comem 3 comem 6” parte do diálogo entre dois perso-
nagens para refletir sobre temáticas como a política cultural, o
uso do espaço público e o descaso com segmentos básicos como
saúde, transporte ou educação. Os personagens em questão são
dois ex-professores, um homem (Tiago Oliveira) e uma mulher
(Helena Almeida), que trocaram as salas de aula pelo trabalho
nas ruas, em busca de melhores condições de vida.
“Ele deixou de ensinar Matemática para catar papelão e latinha,
o que lhe permite ganhar mais do que numa sala de aula. Já ela
deixou de ensinar Literatura para ser manicure ambulante. E
eles questionam a educação, a saúde, a política, fazendo uma
série de críticas sociais”, resume Nonato Tavares, que assina a
codireção e a cenografia da peça.
Além do casal, um outro personagem aparece na encenação: o
Espírito da Rua. “Ele pontua o espetáculo, falando sobre o tea-
tro grego e os primórdios das artes cênicas, até chegar ao teatro
hoje feito nas ruas e a ocupação dos espaços públicos”, explica
Tavares, que faz o papel.10
A peça Otelo solo foi comentada em parte, neste texto, na ocasião
da discussão sobre a dramaturgia de Nereide Santiago, a qual pre-
parou o ator Arnoldo Chaves e realizou a montagem de sua primei-
ra encenação, realizada em julho de 2013 em Itacoatiara. Esta peça
havia recebido o Prêmio Proarte 2011 da Secretaria de Cultura do
Amazonas. Quando houve a participação de Otelo solo no 12º Festival
de Teatro da Amazônia, ocorrido de 22 a 28 de março de 2016, em
Manaus, a peça recebeu o seguinte comentário de Júlia Guimarães,
Em “Otelo Solo”, a adaptação de Zemaria Pinto transpõe a peça
original para o formato do monólogo. Nessa escolha, a ação dra-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 177
mática centra-se no conflito do protagonista diante das suspeitas
de traição de Desdêmona. Questões como a guerra e o racis-
mo surgem secundárias na versão. A ênfase recai, sobretudo, na
agressividade consequente de um ciúme “irrefreável”.
Ao enfatizar esse aspecto, a montagem dirigida por Nereide San-
tiago deixa em aberto uma pergunta: se Otelo arrepende-se de
seu crime somente ao descobrir que a companheira havia sido
fiel, que margem de crítica o espetáculo propõe sobre a suposi-
ção de que o adultério, por sua vez, justifique um assassinato?
Ainda que o raciocínio possa parecer simplista, não se apaga nas
entrelinhas da encenação – assim como a ideia da esposa como
propriedade, também reforçada pelo fato de Desdêmona ser re-
presentada por um objeto na versão de “Otelo Solo”.
Em debate após o espetáculo, o ator Arnoldo Chaves ressaltou
o desejo de abordar, com o trabalho, a violência contra a mu-
lher. Disse também que a adaptação original trazia um acento
crítico nesse sentido, ao propor o uso de vídeos com notícias de
crimes passionais, que acabaram não entrando na versão final.
Talvez possa ser essa uma maneira de reduzir distâncias entre
intenção e efeito, a fim de evitar ambiguidades no diálogo com
a tradição.11
Em outra temporada de apresentação de Otelo solo, em junho de
2016, o ator Arnoldo Chaves, que protagoniza Otelo solo, escreveu:
“Otelo solo, como espetáculo cênico é ideal, pela sua sábia mistura
de poesia e realismo, força e doçura, ódio e amor. A obra propõe
questionar e levar à reflexão valores perdidos na sociedade”.12
No conjunto da produção de Zemaria Pinto, observa-se que a
trajetória segue de textos iniciais predominantemente líricos, como
em Fragmentos de silêncio e Música para surdos, para os textos de inten-
so erotismo, como em Corpoenigma, e para os microcontos, esses pu-
blicados no blog do poeta, destacando-se os microcapítulos de Drops
de pimenta. Essa obra, portanto, está escrita na mídia em formato
de blog. Nos textos de Zemaria Pinto, há a experimentação com a
palavra poética e também com os recursos das novas tecnologias. O
cuidado com o fazer artístico, que alia a palavra, a técnica e a mídia,
prolonga-se para as peças de sua autoria.
Observei o diálogo de seus textos teatrais com os temas clássicos
da arte, que são atualizados para a vida no século XX. Assim, a ira
e a mágoa ancestral de Medeia por seu amado Jasão é reinventada
178 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
com novos desfechos para a protagonista. A dor e o remorso de Ote-
lo após ter matado sua amada, é representada no day after marcado
pela angústia desse personagem em Otelo solo. Por meio da atualiza-
ção dos temas, Zemaria instiga o público à critica da hipocrisia e da
exacerbação do poder predominante na sociedade contemporânea.
Teias da contística na floresta e na cidade
Na antologia O conto no Amazonas, organizada por Zemaria Pinto,
o autor ressalta a origem ancestral do conto, “escondido em inúme-
ros nomes-disfarces” (2011, p. 11), ligados às narrativas orais, define
o conto como “história bem definida, poucas personagens, tempo e
ação muito concentrados, passados num só ambiente”. (2011, p. 9), e
fornece alguns aspectos da linguagem dessa forma simples: concisão,
ausência de digressões, economia de descrições, diálogo para obter
objetividade na narrativa e ponto de vista único. O teórico chama a
atenção para a modalidade mais recente dessa forma simples que é o
microconto ou nanoconto, narrativa extremamente sintética, em que
um capítulo pode conter uma frase. Pinto observa a riqueza da nar-
rativa oral no Amazonas e em seguida faz o histórico dessa narrativa
breve literária no Estado, iniciada com Paulino de Brito, com o livro
Contos, em 1892. A ele seguiram-se Alberto Rangel, com Inferno ver-
de, de 1908; Aristófanes de Castro, com O transviado, de 1948; Mário
Ypiranga Monteiro e Álvaro Maia publicavam seus contos em jornais
de Manaus, mas não os reuniram em um livro. A partir da criação
do Clube da Madrugada, segundo ainda, Zemaria Pinto, a contística
revigora-se, tendo surgido uma quantidade considerável de autores
dessa forma simples, até os anos 2000.
Tenório Telles e Marcos Frederico Krüger, na introdução ao li-
vro Antologia do conto no Amazonas (2009), observam que, desde que
se começa a inventariar a literatura no Amazonas, a narrativa curta
é menos produzida que a poesia, e atribuem a causa disso ao fato
de os jornais em que os textos literários eram frequentemente pu-
blicados preferirem textos curtos. Apontam que o romance apresen-
ta número significativo de publicações. Por outro lado, segundo os
críticos, os contos da mitologia indígena e das lendas da Amazônia
são inúmeros.
Anteriormente às duas mais recentes antologias de contos re-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 179
feridas nos parágrafos acima, e apesar da observação de Telles e
Krüger a respeito da quantidade menor de publicação de livros de
contos em relação ao número de publicação de livros de poesia,
houve, da parte de algumas instituições literárias, publicações de an-
tologias de textos de contistas no Amazonas, tais como: Antologia do
novo conto amazonense, organizado por Arthur Engrácio; Prosadores
do Amazonas, organizado por Jayme Pereira; Conte um conto, organi-
zado por Maria Luiza Damasceno; Poetas e prosadores contemporâneos
do Amazonas, organizado por Arthur Engrácio; e a II antologia de
contos e crônicas da ASSEAM, organizada por Gaitano Antonaccio e
outros. Isso demonstra que havia o esforço dos intelectuais em pro-
mover a divulgação de contos inéditos, talvez com número pouco
suficiente para serem publicados em único livro ou de contos dis-
persos em periódicos.
Observa-se que falta relacionar a contística produzida a par-
tir dos anos noventa para se verificar tanto se há mais expressões
de formas breves a partir daí que em períodos anteriores quanto
a qualidade poética de tais produções. Evito citar bom número
de obras para não incorrer na injustiça de não contemplar muitas
outras.
Caleidoscópio da vida urbana
Allison Leão é um dos contistas que recentemente têm publica-
do seus textos em antologias e em livro individual. Dentre as antolo-
gias destacam-se Antologia do conto do Amazonas, de 2009, organizada
por Tenório Telles e Marcos Frederico Krüger Aleixo, na qual estão
publicados os contos “Os olhos do meu amor” e “Motivo: desilusão
amorosa”, tendo sido esses dois textos primeiramente publicados
no livro Jardim de silêncios, de 2002. Na antologia Manaus: 20 autores
(2013), está publicado o conto E. S. (Educação Sexual), que também
pertence ao livro Jardim de silêncios.
Vale ressaltar que, Zemaria Pinto, na apresentação ao livro Anto-
logia do conto no Amazonas, aponta dois fatores relevantes dessa obra:
a reunião de escritores consagrados junto aos novíssimos, como
Allison Leão, e a indicação de que, recentemente, a narrativa curta
tem assumido significativo espaço na construção da literatura no
Estado (TELLES; KRÜGER, 2009, p. 12).
180 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Em Jardim de silêncios, o livro inaugural de Allison Leão, a rea-
lidade da vida cotidiana às vezes é mostrada com certa crueza em
uma linguagem em que perpassa a ironia leve, mas, às vezes, cer-
to encantamento. Em grande número das primeiras narrativas, as
personagens femininas criam conflitos para elas mesmas ou criam
problemas para os outros personagens, sofrendo conjuntamente a
eles. Elas acreditam ser diferentes e, às vezes, realmente o são, pois
não se enquadram aos padrões sociais. Há outras narrativas em que
as personagens são homens que narram seus relacionamentos amo-
rosos ou algumas situações que os levam a procurar alternativas que
os favoreçam e a refletir sobre a existência. Discorro sobre a diver-
sidade de construção de algumas personagens femininas em partes
dos contos desse livro, em que elas predominam.
“Motivo: desilusão amorosa” possui três planos narrativos apre-
sentados por um narrador onisciente. No primeiro é apresentado
o proprietário de uma casa que é colocada à venda após sua mu-
lher não ter mais retornado. No segundo plano, a mulher, que lê o
anúncio da venda se aborrece, mas logo decide não cobrar a parte
da venda da casa que lhe é de direito. E no terceiro plano, o jovem
casal que decide comprar a casa do anúncio. A ironia está em que a
última frase do conto alude a que o impossível acontece: “E lá fora
um passarinho cai e uma folha canta.” No “Conto de uma Quarta-
-Feira de Cinzas ou Um elogio à tristeza” há o non sense criado em
um ambiente de festa de carnaval no qual, “a um canto, de cócoras,
deslocada desse êxtase, uma mulher chorava em silêncio, dolorosa e
só”. Embora um homem tenha tentado ajudar, a mulher permaneceu
irredutível e responde: “Minha festa hoje é aqui.”. Assim, finaliza o
conto. A narrativa “Foi assim” é construída pela predominância de
diálogos diretos entre duas mulheres, no qual uma, sentindo-se traí-
da, é consolada pela outra. O conto “Uma história que me contaram
e de cujo título não me lembro, se é que me contaram assim, se é
que me contaram” traz uma mulher que cantarola uma melodia que
lhe faz lembrar um ex-namorado. Em “Os olhos do meu amor” uma
artista plástica mata o namorado para preservar no corpo dele a ju-
ventude eterna. “In memoriam” trata de uma mulher que, sem ânimo,
prepara-se para uma festa para a qual decide ir, com o objetivo de ho-
menagear sua mãe falecida. Nesses contos, Allison Leão explora as
seguintes atitudes femininas: a alegria de se sentir livre, de fazer do
corpo e da própria vida o que quiser, a ingenuidade da mulher que
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 181
sonha em casar e viver em eterna lua de mel: gestos aparentemente
inexplicáveis da mulher, que envolvem o masoquismo, o prazer em
sofrer, o conformismo perante as adversidades, o sabor amargo da
lembrança de uma desilusão amorosa, a psicose de uma artista que
mata seu namorado para criar a obra que eternize a beleza dos olhos
dele e a solidão de uma mulher que vai a uma festa apenas em me-
mória de sua mãe, pois não tem amigos nem namorado. Outra par-
ticularidade desse livro consiste na existência de dois contos em que
há narradoras, “Os olhos do meu amor” e “Monólogo do chocalho”.
Certamente esse traço propiciará excelente debate nas pesquisas.
A respeito de Jardim de silêncios, a poetisa Cynthia Teixeira es-
creve que
Allison Leão revela a preocupação de um escritor que quer ex-
pressar seu tempo, sua geração. Num rompimento visível com a
herança mítica (as lendas, os causos, a imperiosidade da floresta),
que ainda é um forte substrato na prosa literária amazonense, as
temáticas adotadas por Allison e os espaços onde ambienta suas
narrativas revelam uma visão de mundo em consonância com a
realidade em que está vivendo – urbana, um pouco aculturada,
um pouco perdida, mas em busca de referências que traduzam
sua época. (TEIXEIRA, 2002, aparata).
José Almerindo da Rosa, em texto ainda inédito intitulado “Alli-
son Leão – geração amazonhecer”, que aguarda publicação, comen-
ta que, no conto “Onde o vento faz a curva”, de Jardim de silêncios,
há o diálogo entre a construção do personagem, subversivo e que
persiste em transformar as coisas, com a construção do sujeito lírico
de Violeta Branca, em seu desejo de libertação, em seu único livro
Ritmos de inquieta alegria.
O segundo livro de Allison Leão, O amor está noir (2004), é cons-
truído com cinco narrativas marcadas por humor leve ou mordaz,
contendo ações estranhas. Um pastor que atende telefonemas de
pessoas desesperadas liga para um estranho, no silêncio da noite,
para narrar uma sequência de atividades que nada têm de huma-
nitárias. “Um Homem-Que-Conta-As-Histórias-Do-Homem-Que-
-Conta-As-Histórias” reconta a história de quando chegou ao lugar
chamado Prisão e as histórias que lá se passam interminavelmen-
te. Uma professora viola o portal do tempo para enviar, para uma
adolescente, mensagens contendo insólitas orientações sobre com-
182 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
portamento e escolha da profissão. Um homem, enquanto espera a
mulher de vestido azul para um encontro que jamais se realiza, pas-
sa por aventuras surreais em um bar e nos velórios de uma mesma
mulher. Em um sítio, um homem, perturbado por gritos noturnos,
mata animais e o caseiro.
Com exceção da narrativa quinta, as ações se passam no espaço
urbano e, considerando que o personagem dessa narrativa caminha
por uma estrada da cidade para o sítio, esse personagem vive em um
centro urbano. Em algumas narrativas o espaço é o da Manaus dos
lugares decadentes, dos pobres, trabalhadores em condições insalu-
bres, cheira-colas, bêbados, prostitutas (ruas e bares sujos).
O tempo é indefinido, pois, mesmo na narrativa terceira, em
que a remetente das cartas está no futuro, as marcações da tempo-
ralidade são pulverizadas quando ela informa que houve uma re-
configuração da convenção da idade das pessoas para nelas gerar
a sensação de que são mais jovens. E mesmo na narrativa quinta,
em que o personagem passa três dias e três noites em um sítio, esse
tempo é construído em um ambiente que remete ao sonho, pois o
personagem mostra-se no primeiro dia a caminho do sítio “debaixo
de chuva num ramal enlameado”. Parte das narrativas que iniciam
com humor possuem passagens líricas ou finalizam com certo liris-
mo de angústia e desencanto ou com uma ação surpreende, beiran-
do o absurdo.
As narrativas desviam-se da realidade em que há o consenso
entre os membros da comunidade para outra, que se assemelha às
do sonho, e isso corresponde a um dos indicadores de que sua cons-
trução se dá segundo estratégias do fantástico, tais como o emprego
de tempos verbais no imperfeito, de termos que indicam incerteza
sobre o acontecimento em algumas narrativas, imagens que se mul-
tiplicam em outras, sem qualquer conexão aparente com a anterior,
macabro, espelhamento, duplicidade, inversão ou repetição de ima-
gens ou ações e jogo de oposições.
Ligadas a esses elementos, as personagens não conseguem en-
contrar saída para os dilemas que se impõem em suas vidas e que
as colocam à margem da sociedade, devido à profissão ou sua falta,
por saberem que não podem ser ouvidas, por estarem presas em
uma prisão sem guardas e por estarem acometidas pela loucura.
Nesse sentido, a vida na cidade, no centro urbano, apresenta-se, de
modo reconfigurado, nesses complexos mundos extraordinários. O
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 183
título, O amor está noir, opera com a duplicidade quando, ironica-
mente, joga com a realização fonética do português “no ar”, pois
em cada conto as ações levam ao sentimento contrário ao amor, ou
quando, se considerarmos o sentido da palavra francesa, verifica-se
a atmosfera sombria, pessimista, angustiante e macabra, marcante
no conjunto das narrativas. O humor leve ou mordaz, como se indi-
cou anteriormente, no entanto, abranda essa atmosfera.
No artigo referido anteriormente, em que Almerindo Rosa ana-
lisa alguns contos de Jardim de silêncios, ele comenta a produção de
crítica literária de Allison Leão, o número de publicações significati-
vo, tendo em vista a exigência de sua profissão de professor e crítico
de literatura. Segundo Rosa, nessas produções, Leão privilegia as
narrativas de autores que escreveram sobre a Amazônia, observan-
do o rigor da análise.
A tal respeito, Rosa escreve:
As obras analisadas por Allison como crítico literário em Ama-
zonas: natureza e ficção estão amparadas por pensamento teórico
abalizado. Não há o engodo, há o fundamento científico, filosó-
fico e literário. O autor esclarece que muitas pesquisas sobre o
tema Literatura no Amazonas têm sido realizadas. Nessas obras,
é necessário que se busque o existente e evite-se o “ouvi falar”.
(s/d, p. 3).
Acrescenta-se à inferência de Almerindo Rosa que os processos
de construção da narrativa curta empregados por Allison Leão mos-
tram a trajetória de seu trabalho com a palavra poética que inicia
com a reinvenção da realidade próxima dos critérios de verossimi-
lhança propostas no cânone para a ruptura dessa, encaminhando-se
para a invenção de mundos opostos à realidade em que predomina
a racionalidade ocidental, convencionada pela sociedade. Muito há
que se discorrer sobre a obra de Leão em decorrência da abertura
que ela oferece.
Reinvenção do encantamento
Vera do Val inicia sua carreira de escritora com a publicação
de dois livros O imaginário da floresta – lendas e histórias da Amazônia
e Histórias do rio Negro, em 2007, tendo esse último merecido dois
184 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
prêmios literários, Prêmio Cidade de Manaus, em 2006, e Prêmio
Jabuti em 2008. Em 2008, publica A criação do mundo e outras lendas
da Amazônia, direcionado para o público infanto-juvenil.
Na Introdução ao livro O imaginário da floresta, a autora pergun-
ta para onde vai você, “curumim do alto rio Negro, perdido entre
o Big Brother e o Curupira, mascando chiclete, pegando as sobras
do que é seu de direito?” (2007, p. XIII). Essa Introdução já é um
pequeno conto, que possui imagens líricas: a enumeração de todos
os seres da natureza que integram a cultura do curumim no tem-
po em que se realizam pesquisas sobre os sistemas intergalácticos.
E finaliza: “Você é criador e criatura”. Na aparata do citado livro,
Marcelo Domingues D’Ávila escreve que o livro trata de nossas ori-
gens e resultou de pesquisas da autora sobre a cultura dos povos da
Amazônia.
As narrativas recolhidas e reinventadas em O imaginário da flo-
resta mostram o modo de vida de alguns dos povos que vivem na
Amazônia desde sempre, in illo tempore, em que os seres possuíam
linguagem única, entendiam-se, e em que muitos seres passavam por
transformações de pessoa para elemento da natureza ou animal e
de animal para pessoa. No entanto, o registro histórico apresenta-
-se quando à lenda é somada a informação sobre o espaço em que
os povos habitam e a quantidade reduzida a que ficou cada povo,
quando é registrado extermínio do povo autor da lenda e quando
é inserida a história do guerreiro Ajuricaba. Assim, as origens dos
povos remontam a tempos imemoriais e anunciam a entrada desses
povos, de modo trágico, na historiografia, e o caráter de denúncia
revela-se no livro.
A respeito de A criação do mundo e outras lendas da Amazônia,
o editor esclarece, na Apresentação, que parte dos contos foram
publicados no livro anterior, agora delimitados para “as lendas que
relatam a criação do mundo”, e que estão rica e delicadamente ilus-
trados por Geraldo Valério. Nesse livro, a atmosfera maravilhosa é
intensificada, porque há o direcionamento para o interesse do leitor
da primeira infância, verificável pelo seu formato que equilibra as
ilustrações coloridas com o formato das letras, que dão vida às nar-
rativas, e também porque não há a informação sobre a população
atual dos autores das lendas, embora haja a referência de que alguns
desses povos não mais existem.
Em Histórias do rio Negro, acontece o que Aluizio Alves Filho,
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 185
ainda na apresentação ao primeiro livro de Vera do Val, chamou
de “lapidação de lendas”, pois parte das narrativas apresentadas no
livro O imaginário da floresta estão muito próximas da compilação de
narrativas de pessoas das comunidades do alto rio Negro. Em Histó-
rias do rio Negro, as narrativas são redimensionadas, amalgamadas a
novos dados provenientes, em alguns casos, dos modos de vida nas
grandes cidades. Vera do Val parte, então, do imaginário da flores-
ta, do patrimônio imaterial dos povos, para criar outro imaginário
que tem como ponto de partida aquele primeiramente reinventado
em sua primeira publicação. E a escritora mostra-se inteira na liber-
dade de reconfigurar, atualizar para a pós-modernidade, persona-
gens, espaços e ações.
Histórias do rio Negro, desde a introdução escrita pela autora,
possui intensa carga lírica, situando o leitor quanto aos temas trata-
dos nas narrativas, como se lê a seguir:
Nas noites o Negro é regaço dos namorados, nas praias enluara-
das e areias macias. Suas águas sussurrantes recolhem suspiros,
aconchegam carinhos e murmuram gemidos de amor. Aos do-
mingos se veste de festa e paciência; as lanchas e barcos rasgam
sua clamaria, a algazarra das crianças, os cuidados das mães, o
colorido das bandeirolas, a toalha xadrez e os piqueniques feitos
nas suas margens. O rio parece se irritar um pouco com o som
estridente dos toca-fitas, fazer um muxoxo de desdém aos exi-
bicionistas, mas, sobretudo, estende-se majestosamente ao sol.
(VAL, 2007, p. 8)
O ponto de partida para as narrativas é o rio Negro personifi-
cado em um ente sedutor, que modula a vida das pessoas que vivem
às suas margens. Cada história mantém com esse rio uma relação
vital. Vera ressalta o momento do dia em que o lado divino do rio
se torna intenso e se abre para o entrelaçamento da fantasia com a
realidade:
O entardecer do negro tem todas as cores e nuances imaginá-
veis. É a hora em que o rio conversa com Deus. Então nesse
diálogo de suprema e efêmera beleza ele se supera. Ruge esplen-
doroso nos vermelhos, geme nos amarelos, chora nos azuis, para
acabar se acalmando, langoroso, na doçura dos rosados e lilases.
E quando a noite chega, escurecendo tudo, eles se juntam. Rio e
186 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
noite, noite e rio, não se sabe onde é o céu e onde é a água, onde
começa o sonho e acaba o mundo. (VAL, 2007, p. 9)
Em entrevista concedida a Carlos Pessoa Rosa, na ocasião em
que Vera do Val ganhou o Prêmio Jabuti, a contista comenta o pro-
cesso de criação das narrativas de Histórias do rio Negro, destacando
nele a inquietação e demora para a escrita dos contos, com exceção
de um, “A praça”, cuja linguagem e ritmo fluíram com tamanha
rapidez que ela quis ter esses traços nos outros contos. A autora
esclarece que reescreve muito os textos até considerar que eles estão
bem elaborados. Vera do Val conta que o pai a incentivava a ler, que
suas primeiras leituras foram da obra de Monteiro Lobato.
Duas antologias publicam alguns dos contos de Vera do Val. An-
tologia do conto do Amazonas reúne “Rosalva” e “A cunhã que amava
Brad Pitt”. Manaus: 20 autores publica “Maria Marieta”, um conto
que não consta em Histórias do rio Negro nem nos outros livros da
autora aqui citados.
A fortuna crítica de Vera do Val começa a ser construída. O bre-
ve estudo de Marcos Frederico Krüger Aleixo, de 2013, sobre gran-
de parte dos contos de Histórias do rio Negro, inicia a discussão. Esse
crítico demonstra que algumas personagens transitam entre con-
tos diferentes da mesma obra, como, dentre outros, o Velho Nabor,
que aparece nos contos “Velho Nabor”, “Rosalva”, “Rodamundo”
e “Irerê”, e como o personagem Seu Jeru, que transita nos contos
“A cunhã que amava Brad Pitt”, “Josué”, “O jogo” e “A praça”; que
o erotismo, manifestado no amor e no desejo, marca grande parte
dos contos; e que outros contos dialogam com as cantigas de ami-
go e de amor medievais. O crítico destaca o espaço do rio Negro,
como aquele que liga as histórias que se passam tanto na floresta
quanto na cidade, e, além de se configurar no espaço das ações, o
rio Negro é também personagem ora protagonista, ora antagonista,
tendo em vista que ele seduz algumas personagens femininas, quan-
do ele mata seus rivais, como nos contos “Curuminha”, “Rosalva” e
“Águas”. Aleixo ressalta, por fim, o caráter de romance estilhaçado
da obra, pois as histórias de determinados personagens iniciadas
em um conto prologam-se e resolvem-se em outro.
Juciane Cavalheiro e Rebeca Lima fazem análise psicanalítica de
alguns contos de Histórias do rio Negro, apresentando o rio como o
elemento sedutor das personagens femininas. Segundo as autoras,
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 187
o rio possui variável constante, no sentido de que ele realiza desejos
que sofrem modificações e porque esses desejos acontecem com re-
gularidade, tendo em vista que, ora ocupando o primeiro plano da
ação, ora servindo como pano de fundo, o rio interfere na vida e
morte das pessoas que vivem em suas margens. Nesse caso, o rio é
sujeito que supre, mantém e domina, como um deus ou um homem,
as outras personagens. As autoras observam, também, que o encan-
to, a fascinação e o feitiço são recíprocos entre as personagens e o
rio, pois o eu e o outro se refletem de modo que há um espelhamen-
to, e isso funciona como válvula de escape de situações indesejadas.
Maria Sebastiana Guedes e Raabe Souza analisam o livro de
Vera do Val sob o tema da violência, do abuso e da exploração sexu-
al sofrida por algumas personagens do livro. As autoras esclarecem
que a percepção sutil da crítica literária permite o tratamento desse
tema por meio das ações de algumas personagens. Assim, as histó-
rias são narradas em um jogo que recria parte da realidade, pois o
texto literário leva o leitor a perceber “o discurso oculto que revela
a denúncia daquelas que não têm opção, porque não lhes foi per-
mitido o acesso à cidadania” (WIGGERS; LIMA, 2014, p. 177). Das
Dores, Janete-Giselle e Luzinete são as personagens destacadas para
mostrar que alguns fatores, dentre eles a falta de proteção por parte
da esfera social as levou a serem vítimas.
Nos estudos acima mencionados sobre o livro Histórias do rio
Negro, alguns elementos se destacam: a circulação de alguns perso-
nagens em mais de um conto, a denúncia da injustiça, o poder do
rio sobre as personagens e, ao mesmo tempo, a reciprocidade do
fascínio entre o rio e as personagens.
A esses temas, soma-se o encantamento despertado a cada nar-
rativa. Nas ciências ocultas, encantamento é uma magia realizada
por meio da enunciação de um texto para produzir determinado
efeito sobre algo ou alguém, transformá-lo. Em Histórias do rio Ne-
gro, os recursos da linguagem são organizados de modo a gerar o
encantamento no leitor: o emprego de expressões do falar nordes-
tino aclimatado na Amazônia ou da vida cotidiana de modo geral,
o humor leve, o aparecimento misterioso de algum personagem, a
atividade de cura pelas plantas ou pela aproximação de alguém que
possui poderes mágicos cria o jogo de encantamento. Conjugado a
esse jogo está o desencantamento por causa da natureza implícita da
crítica a questões relativas à injustiça a que a linguagem remete. Em
188 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
decorrência desse componente que a ele se opõe, o encantamento
nessa obra de Vera do Val é reinventado.
Os poderes mágicos expandem-se para os espaços além daque-
les onde prevalece o rio Negro, como se eles ficassem entranhados
nas personagens. Há poderes que, embora gerados no rio, foram
levados para a cidade, projetando-se na vida urbana, sendo o caso
de Janete-Giselle que, “nascida na beira do rio”, vai à igreja pedir
ajuda a um santo, para quem leva velas e “farofa” e a quem faz ame-
aças para conquistar o amor do Dr. Raimundo. A beleza “de mulher
farta” da personagem seduz o santo, e o pedido dela é atendido.
Não se pode deixar de ressaltar os contos que finalizam de
modo surreal: em “Dorvalice”, a personagem homônima transfor-
ma-se nas próprias mãos a tecer infinitamente a colcha de crochê.
No conto “A gameleira”, Dorival integra-se à arvore de tal modo que
nasce um arbusto “com a cara” desse personagem.
Breves palavras finais
Do cenário da dramaturgia e da contística no Amazonas, da
década de noventa aos 17 anos iniciais do século XXI, selecionei
dois escritores de cada modalidade de arte para delimitar temas e/
ou processos de reinvenção que tanto se configuram nos traços da
escritura de cada autor quanto estão imbricados a problemáticas
socioculturais. Em decorrência disso, os autores evitam representar
o mundo conforme as convenções sociais, sem estabelecer ponto
de vista particular. Antes, questionam, sem a necessidade de res-
ponder, as convenções cujas pseudoverdades estão cada vez mais
enfraquecidas e insustentáveis.
O autor exerce uma crítica interna, uma autocrítica de sua obra
e, para isso, emprega processos artísticos sempre inovadores em re-
lação a seus trabalhos anteriores, usando a descontinuidade e frag-
mentos desconexos, abrandando a tensão motivada pelo rigor for-
mal, podendo o texto apresentar início e final múltiplos, bem como
podendo recusar a fazer distinções entre verdade e ficção, passado
e presente, a estabelecer hierarquias e, ao mesmo tempo, contribui
para reflexões a respeito da ética, da morte e do sujeito, dentre ou-
tros temas do final do século XX e início do XXI.
Esses fatores levam o leitor, receptor da obra, a participar mui-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 189
to mais da obra, inventando os complementos necessários ao seu
entendimento. O enredo ou trama ou argumento do texto, muitas
vezes construído de modo labiríntico, rompe com as concepções
tradicionais de espaço e de tempo. O artista sabe que só é possível
ressignificar a realidade, aquilo que está desgastado nessa realidade
e que os questionamentos da existência só podem ser refletidos na
própria arte, sem que o texto precise produzir sentido. O leitor re-
cebe pistas e é levado a refletir sobre alguns questionamentos, sem,
no entanto, precisar dar explicação simbólica. Assim, os artistas in-
ventam mundos impossíveis de existir em nossa realidade, mas que
existem no mundo da imaginação.
Os textos produzidos por Nereide Santiago, Zemaria Pinto,
Allison Leão e Vera do Val mostram o mal-estar do homem nos
tempos de hoje em decorrência de seu sentimento de que sua
individualidade está fragmentada, sem que haja uma coletivida-
de que lhe assegure um lugar de pertencimento, pois esse não
mais existe. As reinvenções de temas da época clássica e das co-
munidades tradicionais, a invenção de existências que se sentem
socialmente deslocadas e de mundos absurdos mostram que este
é o momento do caos.
Notas
1
Disponível em: ciadeteatrovitoriaregia.com/espetaculos/qorpo-santo/. Acesso:
04 fev 2017.
2
Disponível em: araqiri.blogspot.com.br. Acesso: 04 fev 2017.
3
Disponível em: araqiri.blogspot.com.br. Postado em 21/01/2011. Acesso: 04 fev
2017.
4
SANTIAGO. In: PINTO. Disponível em: palavradofingidor.blogspot.com.br.
Acesso: 02 fev 2017.
5
MOTTA. Disponível em: http://www.acritica.com/channels/entretenimento/
news/recriando-mitos-tikuna-e-retratro-de-qorpo-santo-sao-opcoes-para-final-de-
semana. Acesso: 03 fev 2017.
6
Trata-se de um texto de 2017, que ainda está no prelo para publicação.
7
SAHDO. In: BORGES. Disponível em: http://palavradofingidor.blogspot.com.
br/2011/09/as-tres-faces-de-medeia.html. Acesso: 02 fev 2017.
8
Disponível em: http://palavradofingidor.blogspot.com.br/2011/09/as-tres-faces-
de-medeia.html. Acesso: 02 fev 2017.
9
Disponível em: https://ciadeteatrovitoriaregia.com/espetaculos/papai-cumpriu-
sua-missao/. Acesso: 12 fev 2017.
190 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
10
Disponível em: http://www.acritica.com/channels/entretenimento/news/
companhia-de-teatro-apresenta-peca-de-rua-onde-comem-3-comem-6-no-amazonas.
Acesso: 12 fev 2017.
11
GUIMARÂES. In: http://www.horizontedacena.com/tag/otelo/. Acesso: 12 fev
2017.
CHAVES. In: Indexado. http://indexado.com.br/manaus-am/otelo-solo/89485.
12
Acesso: 12 fev 2017.
Referências
ABREU, Carolina A. F. de. Nós atados: a experiência humana em teatro. 2017. Texto
digitalizado (no prelo).
AMAZONAS ATUAL. Biografia mostra teatro de Nonato Tavares e Vitória Régia.
Disponível em: http://amazonasatual.com.br/biografia-conta-historia-de-nonato-
tavares-e-do-teatro-da-vitoria-regia/. Acesso 25 mar 2017.
ANDRADE, Ligia M. K. de. O teatro de Nereide Santiago. Postado em 07/11/2013.
UNILA. Congresso Internacional da América Latina. Disponível em: https://
dspace.unila.edu.br/handle/123456789/1444. Acesso: 02 fev 2017.
ANTONACCIO, Gaitano e outros. II Antologia de Contos e Crônicas da ASSEAM.
Manaus: Coregráfica Com. e Gráfica Ltda, 2001.
A RÃ QI RI COMPANHIA TEATRAL. Um segundo Qorpo Santo. Postado em
10/11/2011. In: http://araqiri.blogspot.com.br/. Acesso: 04 fev 2017.
______. Um começo ou o novo começo. In: Disponível em: http://araqiri.blogspot.
com.br/2011/11/um-comeco-ou-o-novo-comeco.html. Acesso: 04 fev 2017.
BANDEIRA, Jorge. A busca do teatro de Nereide Santiago - o caminho de Santiago.
Revista Ensaio Geral. Belém. V. 3, N. 5, jan-jul, 2011.
BORGES, Jony Clay. Companhia de teatro apresenta peça “Onde comem 3 comem
6” no Amazonas. Postado em 06/02/2014. Disponível em: http://www.acritica.
com/channels/entretenimento/news/companhia-de-teatro-apresenta-peca-de-rua-
onde-comem-3-comem-6-no-amazonas. Acesso: 12 fev 2017.
______. As três faces de Medeia. Postado em 17/09/2011. In: PINTO, Zemaria.
Disponível em: http://palavradofingidor.blogspot.com.br/2011/09/as-tres-faces-
de-medeia.html. Acesso: 02/02/2017.
CAVALHEIRO, Juciane & LIMA, Rebeca de. Variável constante: entre as águas dos
rios e a do rio Negro ou a sexualidade verificável nos contos de Vera do Val. Revista
Scripta Alumni – Uniandrade, n. 14, 2015. Disponível em: http://uniandrade.br/
revistauniandrade/index.php/ScriptaAlumni/index . Acesso: 02 fev 2017.
CHAVES, Arnoldo. Otelo solo. Postado em 17/06/2016. In: Indexado. Disponível
em: http://indexado.com.br/manaus-am/otelo-solo/89485. Acesso: 12 fev 2017.
COMPANHIA VITÓRIA RÉGIA – TEATRO E CULTURA. Papai cumpriu sua
missão. Disponível em: https://ciadeteatrovitoriaregia.com/espetaculos/papai-
cumpriu-sua-missao/. Acesso: 12 fev 2017.
______. Qorpo Santo e o absurdo. Disponível em: https://ciadeteatrovitoriaregia.
com/espetaculos/qorpo-santo/. Acesso 04 fev 2017.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 191
DAMASCENO, Maria Luiza (Org.) Conte um Conto. Coletânea. Manaus: UFAM,
1993. DAMASCENO, Maria Luiza (Org.) Conte um Conto. Coletânea. Manaus:
UFAM, 1993.
DUARTE, Páscoa Maria Pereira; OLIVEIRA, Rita Barbosa de. Leituras poéticas de
Medeia: duas reinvenções do mito consagrado por Eurípides. Artigo apresentado
como trabalho final no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica –
PIBIC da Universidade Federal do Amazonas. 2013. Texto digitado.
ENGRÁCIO, Arthur. Antologia do novo conto amazonense. Manaus: Casa Editora
Madrugada, 1971.
______. Poetas e prosadores contemporâneos do Amazonas. Manaus: UA, 1994.
EURÍPIDES. Medéia, Hipólito, As troianas. Tradução, apresentação e notas, Mário da
Gama Kury. 5. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001.
FREITAS, Eliane Benatti de. Nós, Medeia, de Zemaria Pinto: o palácio, a cela, o bar.
In: Anais do VIII Colóquio de Estudos Literários – diálogos e perspectivas. Londrina-
PR, 06 e 07/08/2014. ISSN 2446-5488. P 171-185.
GUEDES, Maria Sebastiana; SOUZA, Raabe. Violência, abuso e exploração sexual
em alguns contos da obra Histórias do rio Negro. In: WIGGERS, Raquel & LIMA,
Natã. Abuso e exploração sexual: notas para um debate multidisciplinar. Manaus:
VALER/FAPEAM. 2014.
GUIMARÂES, Júlia. Coberturas críticas: Diálogos cênicos com imaginários
tradicionais. Postado em 06/04/2016. In: Horizonte em cena. Disponível em:
http://www.horizontedacena.com/tag/otelo/. Acesso: 12 fev 2017.
KRÜGER, Marcos Frederico. As histórias de Vera do Val. Disponível em: http://
www.musarara.com.br/as-historias-de-vera-do-val. Postado em 06/10/2013.
Acesso: 04 fev 2017.
LEÃO, Allison. Jardim de silêncios. Manaus: Valer, 2002.
______. O amor está noir. Manaus: Uirapuru, 2004.
MOTTA, Mayrlla. Recriando mitos Tikuna e Retrato de Qorpo santo são opções
para fim de semana. Postado em 31/05/2016. In: A CRÌTICA. Disponível em
http://www.acritica.com/channels/entretenimento/news/recriando-mitos-
tikuna-e-retratro-de-qorpo-santo-sao-opcoes-para-final-de-semana. Acesso: 03 fev
2017.
PEREIRA, Jayme (Org.). Prosadores do Amazonas. Manaus: UBE, 1982.
PINTO, Zemaria; MRQ, Mauri. Lira da Madrugada: 60 anos do Clube da madrugada
– história, antologia e análise. Manaus: Corelli e Jiquitaia, 2014.
______. O conto no Amazonas. Manaus: Editora Valer, 2011.
______. Nós, Medeia. Manaus: Editora Valer e Governo do Estado do Amazonas,
2003.
______. O texto nu: teoria da literatura – gênese, conceitos, aplicação. 2. ed. Manaus:
Editora Valer, 2011.
ROSA, José Almerindo da. Allison Leão – geração amazonhecer. 2016. Texto
digitado (no prelo).
192 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
ROSA, Carlos Pessoa. Entrevista a Vera do Val – Prêmio Jabuti 2008. http://
rogeliocasado.blogspot.com.br/2008/11/entrevista-vera-do-val-prmio-jabuti.html.
Postado em 30 out 2008.
SANTIAGO, Nereide. Nós atados. Manaus: Editora VALER, 2012.
______. “Otelo solo” – folheto. Postado em 04/07/2013, In: PINTO, Zemaria.
Disponível em: palavradofingidor.blogspot.com.br. Acesso: 02 fev 2017.
TELLES, Tenório; ALEIXO, Marcos Frederico Krüger. (Orgs.). Poesia e poetas do
Amazonas. Manaus: Editora Valer, 2006.
______. (Org.) Antologia do conto do Amazonas. 3 ed. Manaus: Editora Valer, 2009.
VAL, Vera do. Histórias do rio Negro. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007.
______. O imaginário da floresta: lendas e histórias da Amazônia. São Paulo: WMF
Martins Fontes, 2007.
VALE, Selda & AZANCOTH, Ediney. Cenário de memórias: movimento teatral em
Manaus (1944-1968). Manaus: VALER/Governo do estado do Amazonas, 2001.
______. Amazônia em cena: grupos teatrais em Manaus (1969-2000). Manaus:
VALER, 2014.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 193
Sobre ordenar o caos: o labirinto
de Alberto Rangel em Inferno verde1
Yasmin Serafim
L ançada há mais de um século, a obra de Alberto Rangel está
entre os textos mais influentes da literatura produzida sobre o
Amazonas. Em 1908, o autor publicou Inferno verde: cenas e cenários
do Amazonas, cujo conteúdo refletia o que aprendeu sobre a região
durante uma expedição militar de reconhecimento do rio Purus
quatro anos antes. De posse das primeiras notas, os textos foram
construídos com o olhar científico, pretendendo-se ao fim de uma
composição onde se veria, como diz o subtítulo do livro: as cenas e
os cenários do Amazonas.
Nascido em Recife, o autor parece escrever para quem é de fora
da região. A narrativa demora-se em parágrafos descritivos que ex-
plicam o funcionamento dos seringais, das relações interpessoais e
das características da fauna e da flora amazônica, apontando críticas
e soluções possíveis aos problemas que presenciou. O leitor modelo
para quem Rangel escreve é o brasileiro que vê na Amazônia um
exótico e distante território. É possível dizer que essa era a mesma
impressão que o habitante do norte tinha em relação ao tão distante
centro de poder do país.
Por muito tempo, o território que compreende hoje a Ama-
zônia brasileira e o resto do Brasil eram duas colônias diferentes,
governadas separadamente pelos portugueses. Logo após a Inde-
pendência e várias divergências internas, o estado do Grão-Pará e
Rio Negro é anexado como província do Brasil. No entanto, como
afirma Luís Balkar no seu artigo, De vice-reino à Província: tensões
regionalistas no Grão-Pará no contexto da emancipação política brasileira,
“[a] diversidade econômica entre as duas colônias [...] era grande e
dificultava uma aproximação de interesses entre os seus mais ilustres
moradores e representantes (as elites econômicas) e inviabilizava a
formação de composições políticas sólidas que fossem além do nível
meramente regional” (2000, p. 88).
194 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
O que demonstra o erro da capital do Brasil, à época localizada
no Rio de Janeiro, em acreditar que o simples ato político de anexa-
ção fosse capaz de unificar cidadãos de culturas tão diversas. Aqui,
os produtos exportados advinham da manufatura e a sua produção
dependia principalmente de uma mão de obra assalariada, enquan-
to o resto do país exportava majoritariamente matéria-prima pro-
duzida por escravos. As duas colônias eram tão distantes cultural-
mente que, como aponta Márcio Souza, em seu artigo Afinal, quem
é mais moderno neste país?, “[...] os habitantes da colônia do Sul eram
chamados de brasileiros, os do norte de portugueses-americanos”
(2005, p. 88).
Sem políticas governamentais significativas, o passar dos anos
não foi capaz de atenuar as divergências. Os conflitos de poder in-
ternos e com o restante do país se agravam cada vez mais com as
inúmeras imposições do governo brasileiro sobre a elite econômica
da região, que, por sua vez, havia se acostumado a dar satisfações
apenas a Portugal.
É nesse período que a comarca do Alto Amazonas, que antes
respondia diretamente à Província do Grão-Pará, declara a sua in-
dependência para ter o mesmo status. E a província do Alto Amazo-
nas que, após a proclamação da república, irá se tornar o estado do
Amazonas. No entanto, se o estado conseguira autonomia na região
Norte, em relação ao resto do Brasil continuava sendo um estado
periférico, mesmo no auge econômico da exportação da borracha.
Rangel escreve seu livro quando os seringais começavam a en-
trar em decadência por conta da produção das colônias britânicas
na Ásia. Mesmo assim, a produção da borracha ainda se fazia pre-
sente como principal atividade econômica da região. O que o autor
nota é que, apesar dos tempos áureos, não houve um reflexo na vida
da população, que ainda se via subjugada pelo meio hostil e pelos
seringalistas.
O autor de Inferno verde obviamente não foi o primeiro a se de-
bruçar sobre a Amazônia na tentativa de retratá-la. À época da co-
lonização, a região era fruto da imaginação dos que versavam sobre
ela e muitos acreditavam que nela poderiam encontrar o Paraíso Ter-
restre. Em Visão do paraíso, Sérgio Buarque de Holanda lembra que:
[a] crença na realidade física e atual do Éden parecia então ina-
balável. [...] [Essa] crença não se fazia sentir apenas em livros de
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 195
devoção ou recreio, mas ainda nas descrições de viagens, reais
e fictícias, como as de Mandeville, e sobretudo nas obras dos
cosmógrafos e cartógrafos. Do desejo explicável de atribuir-se,
nas cartas geográficas, uma posição eminente ao Paraíso Terre-
al. (HOLANDA, 2000, p. 183)
A associação de paisagens paradisíacas com a região irá se in-
troduzir na literatura produzida na Amazônia até as décadas finais
do século XIX, quando o ciclo da borracha instaura, nas palavras
de Mário Ypiranga Monteiro, “uma atmosfera impregnada de des-
confiança, de hostilidade ao trabalhador, de escassez de vizinhança”
(1976, p. 131).
A partir do momento em que portugueses e espanhóis tomam
conhecimento da Amazônia, inicia-se por parte dos povos europeus
um imaginário a respeito da região. A fauna e a flora completamen-
te desconhecidas abriam possibilidades para que nela fossem repro-
duzidos os mundos míticos das tradições cristã e clássica, tempera-
das pelas concepções medievais. O cenário que se descreve nesse
momento é paradisíaco, e encantou por muito tempo os europeus
que se destinavam à região.
Influenciada pelo cientificismo do fim do século XIX, uma mu-
dança ocorrerá da imagem paradisíaca que se tinha da Amazônia
para um mundo de características infernais. Essa mudança é incor-
porada pela literatura do momento, que se lança na tentativa de
retratar a região e as relações sociais que nela se desenvolvem à luz
das novas ciências.
Inferno verde é o livro a inaugurar essa tradição. Não é por acaso
que o termo que a designa é “infernismo”. Ao mesmo tempo em que
o livro cria a tradição, ele traz em si a tentativa de cantar a Amazônia
a partir de um olhar científico – o que nem sempre se concretiza.
Como afirma Allison Leão, “[a] intensão de Rangel de enquadrar a
realidade amazônica ao pensamento positivista do qual era adepto
esbarra continuamente numa realidade que o impele a reproces-
sar seu discurso ou até mesmo contradizer-se, como quando reedita
comportamentos românticos em relação à natureza” (2011, p. 25).
Muito do que se discute a respeito do conceito por detrás do li-
vro advém de um fator ainda não citado neste breve estudo: Euclides
da Cunha. Além de amigo de Alberto Rangel, o autor de Os Sertões
é considerado a principal influência no estilo de escrita empregado
196 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
nos onze contos. Euclides da Cunha faz um estudo introdutório já
na primeira edição do livro, elogiando e apoiando a posição crítica
que Alberto Rangel assume nas narrativas.
Em determinado momento, Euclides da Cunha declara que In-
ferno verde é “um livro bárbaro. Bárbaro conforme o velho sentido
clássico: estranho” (RANGEL, 2001, p. 26). Essa estranheza atribuída
aos contos, ou o que se poderia chamar de cenários, potencializa o
que será tachado de inferno. A anterior classificação de paraíso e a
posterior transformação para inferno são tentativas de encaixar o
território em parâmetros compreensíveis para um homem que vem
de fora. No entanto, como veremos mais tarde, a última narrativa
extrapola a rigidez do binarismo quando afirma que a floresta pode
ser o paraíso, o purgatório ou o inferno, dependendo apenas de
quem a habitar.
Para Euclides, a Amazônia é um espaço geologicamente ainda
em formação; em contrapartida, comporta uma sociedade que está
à beira da morte. A reversão desse quadro só poderia ser viabilizada
com inúmeros estudos científicos: “[o] triunfo virá ao fim de traba-
lhos incalculáveis, em futuro remotíssimo” (RANGEL, 2001, p. 24).
Se para o autor do estudo introdutório seria impossível abraçar a
grandiosidade da Amazônia em uma composição, a exceção à im-
possibilidade seria o livro de Alberto Rangel. Euclides da Cunha
atribui à união entre poesia e ciência em Inferno verde a capacidade
de captar e reproduzir a floresta e os seus habitantes.
Euclides elogia o estilo descritivo e crítico dos textos e acusa a
necessidade de uma independência intelectual do Brasil em relação
a Portugal: “Institui-se uma sorte de mimetismo psíquico nessa co-
vardia de nos forrarmos, pela semelhança externa, aos povos que
nos intimidam e nos encantam” (RANGEL, 2001, p. 33). Os povos
citados nos trechos são os europeus, nesse caso, majoritariamente
os portugueses, dos quais, desde o Romantismo, o Brasil tentava
desvencilhar-se, mas cuja influência cultural e econômica ainda era
significativa em todas as partes do país.
Euclides da Cunha não se detém em criticar a sociedade brasi-
leira, aponta também o caminho que julga importante ser trilhado:
“traduzimo-nos eruditamente, em português, deslembrando-nos
que o nosso orgulho máximo deverá consistir em que ao português
lhe custasse traduzir-nos, lendo-nos na mesma língua” (RANGEL,
2001, p. 34). Portanto, mesmo que portugueses e brasileiros usem
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 197
a língua portuguesa para se comunicar, o Brasil deveria impor as
suas características culturais para acrescentar à língua suas idiossin-
crasias dialetais, auxiliando na criação de uma cultura própria dos
brasileiros.
Luiz Antonio de Assis Brasil, em um artigo para um seminário
de cultura e identidade regional em 2003, faz um estudo da relação
da linguagem com a identidade de um povo. O autor defende que
nomear, ou seja, ser aquele que produz a linguagem é uma forma de
domínio sobre a coisa nomeada:
durante muito tempo, os escritores desta parte do mundo [a
América Latina] sentiram-se no dever de dar nomes às coisas
que deveriam ser conhecidas pelos habitantes de outras para-
gens do globo, para que essas coisas (as árvores, os animais) pu-
dessem ser reconhecidas por seus próprios conterrâneos. [...]
Trata-se de um trabalho de inclusão do particular na cultura
mundial, pois na medida em que sei como uma coisa é, eu a
coloco entre os bens da cultura que são conhecidos de todos.
(BRASIL, 2004, p. 31-32)
A partir disso, em Inferno verde, temos um autor, um narrador
e, posteriormente, um protagonista – realizando uma aproximação
gradativa do cientista em relação ao objeto estudado – que fazem o
trabalho de reconhecimento dos rios e dos territórios no Amazonas.
O prefixo da palavra reconhecer indica uma ação já realizada e
que agora será repetida. Em fins do século XIX, início do século
XX, expedições de reconhecimento têm por função tomar posse de-
finitiva de uma terra que, após ser conquistada, fora esquecida por
quase três séculos pelos habitantes das outras regiões do país e que
deve, agora, ser incorporada como parte do Brasil pelos brasileiros.
Escrever sobre a região, seja em relatos ficcionais seja em relatos
científicos, é transformar um objeto de estranhamento em objeto
familiar que pode ser integrado à cultura. A Amazônia, mais especi-
ficamente o interior do Amazonas, passa a fazer parte do Brasil no
momento em que um escritor o traduz para o resto do país. Alberto
Rangel vai além do processo de tradução, pois ele incorpora o dia-
leto da região à língua de que dispõe para descrevê-la.
O Amazonas, a natureza, o seringal e todos os seus habitantes
não são integrados de forma passiva à cultura do resto do Brasil.
Para se incorporar, trazem no bojo palavras como “sernambi”, “pi-
198 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
cada” e “furo”, adições e ressignificações para um vocabulário que
até agora ignorava tanto a existência delas quanto os objetos que
representam. Alberto Rangel realiza esse processo de inclusão das
palavras do dialeto da região por saber que não é possível descrever
um mundo tão distinto a partir dos parâmetros de outro. A língua
que os europeus trouxeram não seria capaz de retratar fielmente
aquilo que ele vê, sem sofrer alterações.
Pensando na estrutura escolhida na composição do livro, as
onze narrativas formam um complexo que, ao relacioná-las, cria o
grande cenário proposto já no título: Inferno verde: cenas e cenários
do Amazonas. Cada cena desse lugar infernal situado no Amazonas
é representada em seu respectivo cenário, que, ao fim, compõem
um macrocenário: a imagem da região. Para cada cena, temos um
conto; para cada conto, um tema a ser trabalhado. E para gerar o
orgânico complexo que se forma no livro, é necessário que todos os
contos possuam um ou mais pontos em comum. E é isto que ocorre
em Inferno verde. Todos os textos são perpassados pelo isolamento
desses homens, pela solidão que os aflige e pela degradação que
toma conta do físico e do estado psíquico. Quem relata isso é o nar-
rador, que através da linguagem, entra na floresta e atravessa-a – no
sentido mais violento da palavra – denunciando o abandono desses
homens no norte do país.
Vale ressaltar que o subtítulo do livro remete ao gênero dra-
mático. Entre os dois tipos de encenação da Grécia antiga, comé-
dia e tragédia, Inferno verde claramente tende para a segunda, a
qual para Aristóteles versava sobre um assunto grave. Retornan-
do ao livro de Alberto Rangel, Euclides afirma que nele também
o “assunto engravesce”, em seguida, alerta que, no entanto, essa
“tragédia decorre sem peripécias, a desfechar logo, fulminante-
mente”, como se o fim fosse tão iminente e tão urgente que não
houvesse tempo para reviravoltas ou desvio do destino já traça-
do. O livro reitera a presença dos traços da tragédia grega na
curta passagem de tempo em que se passam as suas histórias, no
fim infeliz das personagens e na forma grotesca em que esse fim
se concretiza. A exemplo disso há os contos: “Maibi”, “Teima da
vida”, “Obstinação” e “Inferno verde”.
Pensando em cenários, o que vem à mente, de início, é uma re-
presentação estática e não-natural de outro espaço. É uma estrutura
fabricada com o objetivo de criar o ambiente para que uma ação
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 199
ocorra nele. Ao mesmo tempo em que o cenário não pode ser a
representação fiel do real, pois para isso teria que ser o próprio, é
indispensável que durante a encenação seja capaz de fazer o espec-
tador acreditar na veracidade dele.
Se Alberto Rangel cria cenários, a natureza do livro seria apenas
um espaço para que ações ocorram, entretanto, o que vemos é exa-
tamente o contrário. A floresta é tão personagem quanto os homens
que vivem nela, assumindo, por vezes, características humanas.
A partir desse ponto, temos a imagem que norteará a leitura
da estrutura do livro: um labirinto vivo. Se tudo se transforma,
se move e se liga, caminhos são formados e desfeitos, tornando a
floresta um lugar possível de se adentrar, mas impossível de se sair
incólume. Espelhando o labirinto real, o livro constrói o próprio
labirinto pela linguagem, que instaura um jogo com o leitor em
que a narrativa em terceira pessoa transmite um distanciamento
do narrador, mas que em alguns momentos se trai ao se aproximar
do objeto de estudo quando incorpora em si o dialeto da região.
Essa aproximação se intensifica quando surge um narrador em pri-
meira pessoa na região, como nos contos “Hospitalidade” e “A
decana dos muras”.
Para este estudo, elegi três contos: “O Tapará”, “Maibi” e “Infer-
no verde”. A ideia é começar com o texto que abre o livro e introduz
algumas propostas, passar por um conto ambientado no coração de
um seringal e finalizar com o último conto, no qual o narrador traça
as suas conclusões depois de tudo que foi apresentado.
“O Tapará” possui um enredo simples: o narrador adentra a
floresta auxiliado por um caboclo até chegar ao lago que dá nome
ao conto. No entanto, a narrativa é responsável por estabelecer as
bases para todo o livro e ambientar o leitor ao espaço em que to-
das as narrativas irão se centrar. A introdução do conto encarrega-
-se de construir a imagem da floresta amazônica, a mesma que se
perpetuaria na ficção do século XX. Já no segundo parágrafo, lê-
-se sobre a floresta: “Toda ela é igual, cheia, desordenado entulho
de galharias e folhagens, frondes torcidas, enganchadas em novelos
de cipós que se engrifam pelas pernadas” (RANGEL, 2001, p. 37).
A imagem caótica confunde o narrador que tenta lançar um olhar
200 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
distanciado, mas é engolfado pelo caos aparente da natureza que o
rodeia, tanto que conclui o parágrafo com uma impressão, como se
não conseguisse classificar e traduzir objetivamente aquilo que vê:
“parece toda ela lutar consigo mesma, a um tempo conflagrada e em
sossego” (RANGEL, 2001, p. 37).
O ambiente hostil da Amazônia encontrado nas primeiras pági-
nas do Inferno verde é criado por meio de um detalhamento dos con-
tornos da floresta. O reforço de que trafegar pela floresta é difícil e
perigoso é assinalado nas descrições da vegetação: as embaúbas que
cercam o lago são altivas, mas possuem um aspecto anêmico causa-
do pelas plantas e fungos parasitários; o sol tem que se aproveitar
de pequenos espaços para entrar na floresta: ao mesmo tempo a
luminosidade agride, os raios são como “punhais” que partem o ar
lúgubre da região.
Ao chegar ao centro do conto, o Tapará não é o paraíso que se
espera ao fim de uma árdua caminhada na natureza. O olho d’água
é cego, cuja água apodreceu com os animais que nela morreram,
depois que o rio secou e deixou apenas um lago como lar de cria-
turas que não conseguiam tirar dele o suficiente para sobreviver. O
ambiente é claustrofóbico:
Água prisioneira. Na raiva dessa situação parece filtrar um
olhar de ódio, olhar de basilisco, a esclerótica da lagoa. Vin-
ga-se o poço, gerando uma baixa vida de algas e micróbios
venenosos. [...] Nenhuma clareira. Aquela vegetação espessa,
[...] dando a idéia deprimente de que não tem hiatos na sua
espessidão, e deste modo o lago desafronta. É uma aberta,
um descanso. Na continuidade infinita do túnel, o espiráculo
por onde entre a luz interessa, porque desafoga da impres-
são do enterro. Lembra que no alto há ainda o céu – a visão
constante dos murados em abóbadas e sombras. (RANGEL,
2001, p. 40-42)
É preciso notar que o lago apenas lembra da existência do céu,
o olho cego desse gigante – como por vezes é referenciada a flores-
ta – não é uma deficiência da natureza, apenas uma incapacitação
daquele que busca uma possibilidade de enxergar o caminho de
fuga. Como um velho sábio e cego das tragédias gregas, a floresta
apenas vaticina o futuro dos homens que ousam enfrentá-la. E como
mais à frente o conto afirma, o único destino é a loucura, porque a
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 201
lembrança do mundo exterior vem acompanhada da impossibilida-
de de escapar do ambiente infernal. Para ser mais claro possível, o
narrador, em determinado momento, invoca a imagem de Caronte
navegando o Aqueronte como uma comparação ao homem que na-
vegasse o lago pútrido.
Mas se, ao narrador, a floresta é uma entidade estranha, logo se
observa que o caboclo não sofre do mesmo problema. Acostumado
às variações da floresta, o “nativo” – como é chamado no livro – so-
brevive e se adapta às condições que o espaço impõe. Na cheia, a
vida é mais fácil pois os caminhos se abrem com o mover dos remos.
Quando o rio desce, os caminhos marcados já evanesceram, e uma
lenta e ardilosa caminhada abre trilhas que não demorarão muito a
desaparecer novamente:
[a] floresta, afogada na cheia, é mais própria ao nativo. No di-
lúvio amazônico o homem trocaria bem os seus pulmões por
guelras. Tudo lhe é acessível quando n’água. A solidão do cen-
tro, quando a rede gangliforme dos lagos se liga à rede arterial
das correntes, não tem segredos. O caboclo vara, some-se numa
segurança de caminheiro por vias topografadas, e vai até onde o
tino tranqüilo lhe indica o fácil pescado. Assim, só para ele não
há mistério nesse sertão.
Mas também, com o temor da enchente, o homem está ilhado,
ou pior, emparedado. Baixando a água, baixa-lhe a capacidade
de andejo.
[...]
A trilha pela mata é custosa de reconhecer. Durando o espaço
da vazante, não tem tempo de ficar assinalada. (RANGEL, 2001,
p. 38)
Nesse labirinto, o “nativo” ou o “caboclo” viveriam como parte
da natureza, sobreviveriam nela instintivamente. Habitar a floresta
nessas condições não leva ao mesmo embate de “cultura x natureza”
causado pelo colonizador em busca do paraíso ou à procura da ri-
queza proporcionada pelo látex. O homem da região, para Rangel,
é apenas mais um elemento natural, incapaz de domar a floresta; o
caboclo não é um sujeito no sentido daquele que age, mas apenas
daquele que é sujeitado.
Vale notar que enquanto se falou de loucura, o alvo dela era
apenas o homem que vinha de fora. Aos nativos – no conto são
202 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
apresentados Palheta e sua família – o lago é a fonte de sobrevi-
vência quando, em setembro, abandonam a terra firme para per-
manecerem próximos à água. É do lago que tiram o alimento para
o consumo direto ou trocam na cidade mais próxima por outros
utensílios. A floresta, em Inferno verde, prescinde de qualquer ou-
tro elemento externo a ela, o caboclo sabe que a sobrevivência é
uma dádiva que recebe.
Alberto Rangel, porém, não se detém a explicar o papel apenas
do caboclo. O invasor, aquele que não pertence ao espaço, recebe a
crítica que vem na voz de Palheta e, depois, do narrador. O cearense,
termo que o nativo utiliza para se referir ao imigrante – advindo do
nordeste ou de outras regiões do país –, que chegava para trabalhar
nos seringais, era considerado incapaz após tantos anos vivendo do
trabalho nos seringais e demonstrando que muitas vezes as suas
condições de vida apenas pioravam. A culpa disso, para o narrador,
recai na ambição. E não só em “O Tapará”, mas em quaisquer outros
contos, o motivo pelo qual até aquele momento ninguém – brasilei-
ro ou europeu – havia sido capaz de dominar a região era a ambição
de enriquecer pela exploração.
Pedagogicamente, como em muitos dos outros contos, a moral
da história surge ao fim da narrativa para esclarecer quaisquer dú-
vidas que ainda restem ao leitor desavisado. Se nem o nativo nem
o invasor estão aptos a subjugar o meio, o narrador lança para o
futuro o homem que será capaz de o fazer:
E no sangue, que há de lavar, um dia, as veias do brasileiro étni-
co normal, o sangue do pária tapuio terá o seu coeficiente mo-
lecular de mistura ao sangue de tantos povos, argamassado num
só corpo, cozido em cadinho único, fundido num só molde.
Cadinho, molde, corpo: aparelho e resíduo de transformação
consumada, onde com o mameluco, o carafuz e o mulato e esse
indo-europeu, que preponderar na imigração, ter-se-á tornado
o brasileiro tipo definitivo de equilíbrio etnológico. Deixará de
ser, afinal, o que tem sido: um desfalecido meio para o trânsito
transfusivo de raças... (RANGEL, 2001, p. 48)
É na mistura de todos os povos que, nesse conto de abertura,
recai a possibilidade de surgir um brasileiro apto – no sentido mais
darwiniano da palavra. Por enquanto, qualquer um que se apresen-
te como candidato a dominador não passa de um desfalecido que
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 203
ainda está a caminho desse equilíbrio etnológico no qual narrador/
autor deposita a sua esperança.
Em “Maibi”, o leitor já se encontra em meio a um seringal, não
se trata mais de apenas adentrar o cenário, mas de conhecer as per-
sonagens e as cenas que se desenvolvem no ambiente. Um espetácu-
lo trágico é criado nesse conto: na introdução, a apresentação das
personagens e do espaço é feita de forma a simular o início de uma
peça teatral. Apresentam-se o espaço, as personagens e como elas
se distribuem no cenário para então encaminhar o diálogo de uma
negociação.
Trata-se de uma negociação cujo objeto o diálogo inicialmente
não esclarece, mas o narrador surge para esclarecer que os dois
envolvidos, Marciano, gerente do barracão do seringal, e Sabino,
seringueiro e seu cliente, negociavam Maibi, a esposa de Sabino,
em troca de saldar uma dívida. A cabocla passaria, como moeda
de troca, para Sérgio, outro seringueiro, que assumiria a dívida do
antigo “dono”. A cena transcorre com naturalidade, como se os dois
estivessem realizando uma transação comercial corriqueira.
No mesmo armazém em que Sabino fez a troca, muitos outros
seringueiros compravam os suprimentos da semana. Os preços exi-
gidos pelas mercadorias eram abusivos e levavam cada vez mais o
seringueiro a se endividar, já que o comércio era monopolizado. As
encomendas dos seringueiros chegavam com os navios que abas-
teciam os armazéns, o mesmo esquema ocorria com outro tipo de
carga, a humana: “[c]om o carregamento desembarcara o pessoal,
que o guarda-livros fora buscar ao Ceará. Umas vinte cabeças, gente
do Crato e de Cratéus” (RANGEL, 2001, p. 130). O tratamento aos
trabalhadores que chegavam do Nordeste como animais, contados
“por cabeça”, colocava-os no mesmo nível das mercadorias. O que
importava era o lucro que cada um poderia trazer para o seringal.
Esses homens eram estimulados a tirar o máximo de proveito de
cada árvore, mesmo que para isso precisassem matá-la. O narrador
expõe o aniquilamento das seringueiras, as quais julga ser a princi-
pal riqueza amazônica, ainda assim não considera que a culpa não
seja dos trabalhadores, mas da exploração que sofriam. A pressão
feita para que o lucro fosse obtido levava os homens à exaustão,
204 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
num trabalho que começava ainda de madrugada e atravessava o dia
com a transformação do látex em borracha.
O regime da indústria seringueira tem sido abominável. Insti-
tuiu-se o trabalho com a escravidão branca! Incidente à parte na
civilização nacional, determinaram-no as circunstâncias de uma
exploração sem lei. O código surgiu mesmo nas contingências
da luta. Não por intimações de uma autoridade, que não existia;
mas por acordo tácito entre todos. (RANGEL, 2001, p. 126)
O ambiente fechado e sufocante da mata, somado ao isola-
mento do resto da sociedade a que tantos os seringueiros quanto
os patrões eram submetidos, criava um espaço em que os homens
poderiam fazer as suas próprias leis, ignorando os conceitos de
moral do mundo “lá fora”. A exploração dos seringueiros era,
como denuncia o narrador, uma espécie de escravidão instituída
tacitamente pelas ambições de lucro daqueles que tinham o po-
der para impor a situação aos que deixavam as suas terras com
promessas de enriquecer. Isso tudo era possibilitado pelo desca-
so total das autoridades:
A história da Amazônia mostra que seus mandatários sempre fo-
ram alheios à região. Na colônia, missionários; na passagem da
Independência um discurso regional fora fortemente reprimido;
no Império, os governos indicados não possuíam laços locais, e
na República, com a ascensão da borracha, sua elite política não
era oriunda da atividade extrativa, e aqueles que acumularam
com a borracha, parte era estrangeiro ligado ao setor exporta-
dor e a outra sequer formulou projetos para além do extrativis-
mo. (NOGUEIRA, 2000, p. 116)
Além de críticas às práticas dos seringais, no meio do conto
o narrador denuncia a distância entre a capital do país e o Norte.
Distância política que favorecia a perpetuação dos regimes de escra-
vidão que atingia principalmente nortistas e nordestinos.
[...] [f]ora preciso organizar, em plena selva aquilo de que o pen-
samento social do país, focado na Rua do Ouvidor, não cogitara
nunca. [...] Um seringal, em fim de contas, não era a estância de
gado, nem a fazenda de café, nem o engenho de cana. O que
satisfazia na campanha do Rio Grande, no oeste de São Paulo,
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 205
no interior de Pernambuco, não era suficiente no Madeira, no
Purus, no Juruá. (RANGEL, 2006, p. 126)
A famosa Rua do Ouvidor, símbolo do comércio e da alta classe
do Rio de Janeiro, seria para onde os olhos do poder estariam volta-
dos, ignorando as atrocidades que aconteciam no resto do país. É in-
teressante notar também que, apesar das duras críticas aos seringa-
listas, o narrador, em último caso, responsabiliza a necessidade do
lucro pelo tratamento dado aos seringueiros. Trata-se a Amazônia
como um ambiente de condições extremas, em que se faz aquilo que
é necessário para continuar a ser peça significativa da sociedade.
O motivo da exploração não seria a ambição do indivíduo, mas as
exigências sociais a que ele estava submetido.
Para encerrar a argumentação a respeito dos sistemas, o narra-
dor, após percorrer o texto descrevendo a estrutura complexa dos
seringais, detém-se diante de uma última cena. O que se vê é o sa-
crifício de Maibi. Num ataque de ciúmes, Sabino assassina a cabocla
e prende-a em uma seringueira, firmando as tigelinhas usadas para
colher látex pelo corpo de Maibi. No lugar do leite, o que escorre
é o sangue da cabocla que transborda e é absorvido pelas raízes da
seringueira. O feminicídio cometido por Sabino é no conto tratado
como uma alegoria do crime que os seringais cometiam contra a
floresta:
[...] [I]molada na árvore, essa mulher representava a terra.
O martírio de Maibi, com a sua vida a escoar-se nas tigelinhas
do seringueiro, seria ainda assim bem menor que o do Ama-
zonas, oferecendo-se em pasto de uma indústria que o esgota.
A vingança do seringueiro, com intenção diversa, esculpira a
imagem imponente e flagrante de sua sacrificadora explora-
ção. Havia uma auréola de oblação nesse cadáver, que se diria
representar, em miniatura um crime maior, não cometido pelo
Amor, em coração desvairado, mas pela Ambição coletiva de
milhares d’almas endoidecidas na cobiça universal. (RANGEL,
2001, p. 136)
Maibi – um nome que indica a origem indígena da cabocla –
segundo a narrativa, perde a vida por culpa da ambição do homem
estrangeiro que explora a terra. O seu sacrifício era uma represen-
tação de toda a floresta, o sacrifício de uma mulher que não tem
206 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
direito à voz, como a região, mas que deve, mesmo assim, sofrer as
consequências.
“Inferno verde” é o conto que encerra o livro de Rangel. Ele é
protagonizado pelo engenheiro Souto, pelo qual somos levados a
conhecer os caminhos percorridos desde que chegara ao norte do
país, passando pelo momento em que se despede do gaiola em que
subiu o rio, até o momento em que a expedição de reconhecimento
fracassa.
No momento em que Souto desce do gaiola e se afasta do único
transporte que o poderia levar de volta à cidade, ele sente que “algu-
ma coisa partia de si ou lhe era deixado, no mistério do abandono e
da saudade” (RANGEL, 2001, p. 147). Até esse momento, a viagem
pela Amazônia havia sido tranquila, e o engenheiro nutria-se da sua
“ambição de moço e recém-formado” (RANGEL, 2001, p. 147 – gri-
fo meu), porém, no momento em que a personagem passa de turista
a cientista (aquele que entra na floresta para dominá-la por meio
das suas demarcações e classificações), o ambiente ao seu redor se
altera, tornando-se hostil ao intruso.
O ambiente começa a cercá-lo, e assim é descrito o lugar em
que passa a primeira noite: “O bananal apertava a barraca; a floresta
sufocava o bananal; e, por sua vez, o céu esmagava a floresta” (RAN-
GEL, 2001, p. 151). Intimidado, mal consegue dormir com os sons
dos animais ocultados pela escuridão da mata densa:
A floresta sofria, a floresta ria... [...] Houve um instante, em que
Souto ouviu, a princípio indistintamente no sussurro, um gran-
de ofego de muitos peitos humanos esbofados, que respirassem
demoradamente. Depois se acentuou o corpo dos sons roucos e
sfogatos. E a esse estertor enorme, mas abafado, os outros sons
morreram. (RANGEL, 2001, p. 152)
A palavra solidão repete-se continuamente na narrativa aumen-
tando a sensação de isolamento do engenheiro, ao mesmo tempo
em que o narrador se detém a catalogar os animais mais repulsivos,
como se a própria personagem a partir de agora só conseguisse no-
tar o que havia de repugnante ao redor.
A partir dessa noite, a expedição começa a colocar em dúvida
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 207
os ideais de Souto. Ele passa a duvidar se voltará para casa. E quanto
mais avança para dentro da floresta, mais se questiona, até a noite
em que dorme em um acampamento ironicamente chamado “Nova
Vida” e adoece.
Inicialmente o engenheiro tenta resistir à doença. Acredita que
a sua persistência será mais forte que o empecilho que a natureza
lhe apresenta, mas aos poucos vai percebendo que não conseguirá
terminar o trabalho. Durante um dia ensolarado, Souto não conse-
gue mais ficar em pé com as dores que o afligem e ordena ao seu
empregado, que pilota o pequeno barco em que navegam, que co-
mecem a viagem de retorno. A floresta havia vencido.
O caminho de volta já não parece o mesmo pelo qual viera. É
o labirinto vivo que se revela: os rios por onde o engenheiro viera
desapareceram e no lugar surgem enormes praias que dificultam a
travessia. Assim como o conto de abertura, “Inferno verde” apresen-
ta um longo trajeto pela floresta, mas, ao contrário do primeiro, a
narrativa passa a maior parte do tempo acompanhando a tentativa
de voltar ao rio principal que leva à cidade. No entanto, aos cami-
nhos de água que se transformaram em terra, à ausência de barcos,
à febre de Souto, somam-se a sensação que acomete a personagem
principal desde o início da expedição e confirmam que não há mais
retorno.
Inúmeras vezes os ideais de Souto são negados nesse trajeto de
volta. O conhecimento não consegue reverberar dentro da flores-
ta. Em uma determinada parada: “O filósofo, a um canto, perdia-
-se galrão, em comentários toscos sobre a desigualdade das fortu-
nas humanas. Mas as suas palavras por fim, não encontravam eco.
[...] Afinal, a premissa de um silogismo embotou-se num ronco.”
(RANGEL, 2001, p. 151). A ciência médica também não consegue
se impor sobre a doença que atinge o corpo do engenheiro, ainda
que ele insista em acreditar nela: “Tinha ainda fé, confiava... Aquilo
havia de passar. O quinino triunfaria... mas o Souto se descarnava.”
(RANGEL, 2001, p. 160).
Além do conhecimento filosófico e médico, a organização mili-
tar também é questionada pelo antigo soldado. Não na essência, mas
na capacidade de certos indivíduos em exercê-la naquele ambiente:
O que tinha a soldadesca de devotada e bem-disposta, tinham os
oficiais de macambúzios e queixando-se de tudo, maldizendo-se,
208 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
forjando intrigas, ou discutindo política. Uma frouxidão d’alma
caracterizava esses indivíduos, aos quais, pela maior parte, falta-
va evidentemente um completo e rijo treinamento físico e moral.
Eram militares; e, o que lhes reservava a profissão de sofrimen-
to e desconforto dava-lhes azedume, torcia-os de rancor. (RAN-
GEL, 2001, p. 164)
Em uma das paradas que fizera, seu empregado, Miguel, sai
em busca de alimento e ajuda, deixando-o sozinho em um barra-
cão ladeado por um estranho jardim de rosas degradado pelo aban-
dono. Souto, queimando em febre, lança-se em direção à roseira
debatendo-se e arranhando-se nos espinhos. A roseira parece ser
o único elemento ao redor que consegue lhe lembrar da sua casa,
a ponto de murmurar “Minha terra... os meus... minha terra, que
deixei...” (RANGEL, 2001, p. 167). Exausto, antes de morrer, diz
o que serão suas últimas palavras: “– Inferno!... Inferno... verde!”
(RANGEL, 2001, p. 151). Dá-se dessa forma a vitória da natureza
sobre o estrangeiro que ousou entrar na floresta para conquistá-la.
O fim trágico da personagem é a última cena do grande cenário
que o livro propõe do Amazonas, a crítica recai sobre os homens ga-
nanciosos que acreditavam que entrariam na floresta e não seriam
afetados por ela. É por isso que Souto, enquanto um turista que vê
tudo do lado de fora, tem uma percepção paradisíaca da natureza,
mas, a partir do momento em que colocar os pés na terra, passa a
ser dominado por ela. Curiosamente, o engenheiro Souto é um re-
flexo do narrador-cientista que esteve presente em todos os contos
do livro. Pode-se lembrar que o narrador também é afetado, na sua
linguagem, pela floresta, reforçando que não é possível entrar neste
território-vivo, sem por ele ser marcado de alguma forma.
Como última observação sobre o conto, após a morte de Souto,
o narrador supõe o que diria a floresta ao assistir à cena. O discurso
encerra o livro explanando diretamente tudo o que fora defendido
durante os onze contos, complementando a proposição iniciada no
primeiro conto. A voz imaginada da floresta, segundo o narrador,
diria:
[...] Fui um paraíso. Para a raça íncola nenhuma pátria melhor,
mais farta e benfazeja. Por mim as tribos erravam, no sublime
desabafo dos instintos de conservação, livres nas marnotas pe-
las bacias fluviais. [...] Diante os insucessos da avidez do “bran-
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 209
co”, o nativo murmurará: “Contudo aqui se sofre, mas ainda se
aguenta...”. Se não paraíso, ser-lhe-ei purgatório [...] Inferno é
o Amazonas... inferno verde do explorador moderno, vândalo
inquieto, com a imagem amada das terras donde veio carinho-
samente resguardada na alma ansiada de paixão por dominar a
terra virgem que barbaramente violenta. Eu resisto à violência
dos estupradores... [...] “Oh! Infeliz Invasor! Fadeja desenraizado,
descontente, praguejando, mas fertilizas... Por ti sou denegrida;
que importa! Impassível, porém, aguardo as gerações que hão
de seguir, cantando, o carro de meu triunfo!” (RANGEL, 2001,
p. 166-169)
O conto retoma nessa última parte pontos cruciais dos outros
dez que compõem o livro, reforçando por meio da “fala” da floresta
o lugar de todos os povos que passaram pela Amazônia e que ou-
saram tentar viver nela. O índio ainda possui na época da publica-
ção de Inferno verde a imagem de um povo passivo e pacífico e, por
isso, seria o único que teria visto na floresta um espaço paradisíaco.
É bom ressaltar que nas últimas décadas a historiografia indígena
vem sendo reescrita, modificando essa naturalização dos índios. O
caboclo, por sua vez, seria aquele que apenas sobrevive no espaço,
merecendo apenas o purgatório e, por último, para o branco ambi-
cioso, a floresta se mostra como inferno. Às gerações por vir, ficaria
reservada a vitória sobre o meio infernal.
As narrativas entrelaçam-se dessa forma em um discurso que
monta uma espécie de cenário caleidoscópico, em que, a cada conto
que o leitor atravessa, também cruza mais um centro desse labirinto.
A escolha por contos e não por capítulos, em um livro que poderia
ter sido costurado como um romance, justifica-se no lançar do olhar
pretensamente científico, mas incapaz de harmonizar completamen-
te as desordenadas cenas amazônicas. Basta lembrar a primeira
impressão caótica que o narrador tem do ambiente. O livro, dessa
forma, transfere para a sua estrutura esse caos, em que só há uma
regra: entra-se pelo lago cego do Tapará e finaliza-se preso no cerne
do labirinto do Inferno verde.
210 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Nota
1
A base para este texto surgiu em 2011, durante a execução do projeto Solidões
encharcadas em Inferno verde: uma leitura para a obra de Alberto Rangel, vinculado ao
projeto Brasil, Brasis: insulamento e produção literária no Amazonas, contemplado pelo
Edital Universal do CNPq, sob coordenação do professor Gabriel Arcanjo Santos
de Albuquerque, na Universidade Federal do Amazonas.
Referências
BRASIL, Luiz Antonio Assis. Entre a universalidade e o particular: a literatura ante
as identidades nacionais. In: SCHULER, Fernando Luís e BORDINI, Maria Glória.
Cultura e identidade regional. Porto Alegre: Edupucrs, 2004.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Visão do Paraíso. São Paulo: Brasiliense; Publifolha,
2000.
LEÃO, Allison. Amazonas: natureza e ficção. São Paulo: Annablume; Manaus:
FAPEAM, 2011.
NOGUEIRA, Ricardo José Batista. Amazônia e questão regional: um regionalismo
sufocado. Somanlu, Manaus, v. 1, n. 1, p. 109-118, 2000.
PINHEIRO, L. B. S. P. De vice-reino à província: tensões regionalistas no Grão-Pará
no contexto da emancipação política brasileira. Somanlu, Manaus, v. 1, n. 1, p. 83-
106, 2000.
RANGEL, Alberto. Inferno Verde: cenas e cenários do Amazonas. 5. ed. Manaus:
Valer, 2001.
SOUZA, Márcio. Afinal, quem é mais moderno neste país? Revista de Estudos
Avançados, São Paulo: Edusp, v. 19, n. 53, 2005.
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 211
Sobre os autores
Allison Leão é graduado em Pedagogia pela Universidade Fede-
ral do Amazonas (2000) e mestre em Sociedade e Cultura na
Amazônia pela mesma instituição (2002). É doutor em Letras:
Estudos Literários - Literatura Comparada, pela Universida-
de Federal de Minas Gerais (2008). É professor de Literatura
Brasileira e Teoria da Literatura na Universidade do Estado
do Amazonas (UEA) e professor do Programa de Pós-gradu-
ação em Letras e Artes da UEA. Coordena o projeto “Bases
para constituição de arquivo lítero-visual da Universidade do
Estado do Amazonas” (PPP-FAPEAM), que visa à criação de
um centro de documentação artística e cultural na UEA. Co-
-lidera, com a Profa. Dra. Luciane Páscoa, grupo Investigações
sobre memória cultural em artes e literatura (MemoCult). In-
teresses de pesquisa: temas do comparatismo (alteridade, cen-
tro e margens, regionalismo), literatura amazônica e arquivos
literários da Amazônia.
Carlos Antônio Magalhães Guedelha é doutor em Linguística
pela UFSC, com doutorado realizado com bolsa parcial de
estudos pela FAPEAM; Mestre em Sociedade e Cultura na
Amazônia pela UFAM, com enfoque em estudos literários.
Professor da UFAM. Trabalha com as interfaces da linguística
e da literatura, literatura de expressão amazônica, metáfora,
teorias da enunciação, usos da linguagem. Lidera o Grupo de
Estudos da Metáfora e Pesquisas sobre Língua e Literatura de
Expressão Amazônica (GREMPLEXA-UFAM/CNPq).
Fadul Moura possui graduação em Letras – Língua e Literatura
Portuguesa pela Universidade Federal do Amazonas (2011),
mestrado em Letras e Artes pela Universidade do Estado do
Amazonas (2016). Está professor da Universidade Federal do
Amazonas. Tem experiência na área de Teoria da Literatura
e Literaturas de Língua Portuguesa, atuando como pesquisa-
dor dos seguintes grupos de pesquisa: Grupo de Estudos e
212 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Pesquisas em Literaturas de Língua Portuguesa (GEPELIP),
Relações de gênero, poder e violência em literaturas de língua
portuguesa (ambos da UFAM) e Investigações sobre memória
cultural em artes e literatura (MemoCult), da UEA.
Luciane Viana Barros Páscoa possui graduação em Artes Plásti-
cas (Licenciatura) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho (1992), graduação em Música (Licenciatura)
pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
(1993), mestrado em História pela Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo (1997) e doutorado em História Cultural
pela Universidade do Porto (2006). Atualmente é professora
adjunta da Universidade do Estado do Amazonas, onde atua
como membro permanente do Mestrado em Letras e Artes, e
no curso de Música, no qual ocupa as cadeiras de Estética e
História da Arte e Filosofia da Arte. Ainda nesta instituição,
realiza atividade de pesquisa no Laboratório de Musicologia
e História Cultural, no qual coordena a área de projetos, den-
tre os quais se destacam patrocínios importantes junto a insti-
tuições de projeção nacional, como Petrobras, com o projeto
“Ópera na Amazônia no período da borracha (1850-1910)”.
É líder do grupo de pesquisa Investigações sobre memória
cultural em artes e literatura (MemoCult), do Programa de
Pós-graduação em Letras e Artes da UEA. É autora do livro
Artes Plásticas no Amazonas: o Clube da Madrugada, Editora Va-
ler (2011) e do livro Álvaro Páscoa: o golpe fundo, EDUA (2012).
Tem experiência na área de Artes, com ênfase em Estética e
História da Arte e Filosofia da Arte, atuando principalmente
nos seguintes temas: artes plásticas, estética, Manaus, história
da arte, Amazonas, arte luso-brasileira, iconografia musical,
iconografia da dança e do espetáculo, iconologia, cultura e
representação nos séculos XIX e XX.
Márcio Leonel Farias Reis Páscoa é doutorado pela Universida-
de de Coimbra, Portugal, e atualmente trabalha na Univer-
sidade do Estado do Amazonas, onde desenvolve pesquisa
sobre o patrimônio musical do Norte do Brasil, assunto pelo
qual recebeu estipêndio da Petrobrás para editar as óperas
sobreviventes dos autores amazônicos do século XIX. Com o
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 213
apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (FA-
PEAM) desenvolve pesquisa sobre ópera no Brasil colonial,
com especial ênfase para Amazônia e Centro-Oeste, atuando
na transcrição, análise e interpretação de fontes e obras mu-
sicais. Nesse projeto, desenvolvido pelo Laboratório de Musi-
cologia e História Cultural, dirige cantores e grupo orquestral
em instrumentos de época.
Marcos Frederico Krüger Aleixo possui mestrado em Letras
(Letras Vernáculas) pela Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (1982) e doutorado em Letras pela Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio de Janeiro (1997). Tem experiência na
área de Letras, com ênfase em Letras, atuando principalmen-
te nos seguintes temas: Amazônia, estudos literários, literatu-
ra regional, poesia e literatura brasileira.
Nicia Petreceli Zucolo possui graduação em Letras pela Univer-
sidade Federal de Santa Maria (1995), mestrado em Sociedade
e Cultura na Amazônia pela Universidade Federal do Ama-
zonas (2005) e doutorado em Letras - Literatura Portuguesa
pela Universidade de São Paulo (2014), quando foi bolsista
FAPEAM. Professora de Literaturas de Língua Portuguesa
da Universidade Federal do Amazonas, onde desenvolve pes-
quisa sobre os seguintes temas: literatura contemporânea em
língua portuguesa, pós-colonialismo, totalitarismo, violência
e gênero, gênero, relações entre ficção, história e memória.
É membro do Grupo de Estudos de Literatura de Autoria Fe-
minina, certificado pela USP, e lidera o Grupo de Pesquisa
Relações de gênero, poder e violência em literaturas de língua
portuguesa, certificado pela UFAM, ambos inscritos no dire-
tório dos Grupos de Pesquisa no Brasil/CNPq.
Paulo Jorge Martins Nunes possui graduação em Letras pela
Universidade Federal do Pará (1987), mestrado em Letras:
Teoria Literária pela Universidade Federal do Pará (1998)
e doutorado em Letras, Literaturas de Língua Portuguesa,
pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2007).
É professor titular da Universidade da Amazônia (Unama),
onde atua principalmente com os seguintes temas: Dalcídio
214 Fadul Moura, Yasmin S erafim, R ita Barbosa de Oliveira
Jurandir, Ciclo do Extremo Norte, ficção contemporânea, lite-
ratura e cultura da Amazônia paraense, literaturas africanas
de língua portuguesa, negritudinismo; debruça-se na Muldi-
disciplinaridade em Cultura e Linguagem Literária. Professor
da graduação em Letras; atua ainda como professor e orienta-
dor, no mestrado e doutorado em Comunicação, Linguagens
e Cultura; professor-pequisador e cocoordenador do projeto
de pesquisa Academia do Peixe Frito. Cocoordena o grupo
de Estudos Narramazônia: a narrativa contemporânea na
Amazônia paraense (UNAMA em conjunto com a FACOM/
UFPA). É cocoordenador do projeto Epístolas Poéticas: a cor-
respondência de Dalcidio Jurandir e Maria de Belém Menezes
(em conjunto com o CUMA/ UEPA).
Rita Barbosa de Oliveira possui graduação em Letras pela Uni-
versidade Federal do Amazonas (1985), especialização em
Língua Portuguesa pela mesma Universidade (1989), mestra-
do em Literatura Brasileira pela Universidade de São Paulo
(1993) e doutorado em Letras - Literatura Portuguesa pela
PUC-Rio (2010). É professora adjunta do Departamento de
Língua e Literatura Portuguesa e do Programa de Pós-Gradu-
ação em Letras da Universidade Federal do Amazonas, atu-
ando com ênfase em Literatura Portuguesa. Líder do Grupo
de Estudos e Pesquisas em Literaturas de Língua Portuguesa
(GEPELIP).
Vânia Maria Torres Costa é doutora em Comunicação pela
Universidade Federal Fluminense (UFF). Mestre em Plane-
jamento do Desenvolvimento (NAEA/UFPA). Graduada em
Comunicação Social – Jornalismo (UFPA). Professora titu-
lar da Universidade da Amazônia (Unama), com atuação na
graduação em Comunicação (Jornalismo e Publicidade), no
Mestrado e no Doutorado em Comunicação, Linguagens e
Cultura (PPGCLC). É uma das coordenadoras do projeto
Narramazônia, uma parceria entre Unama e Universidade
Federal do Pará. É uma das coordenadoras da pesquisa so-
bre a Academia do Peixe Frito sobre a relação entre Litera-
tura, Jornalismo e Negritude no Pará (Unama). Professora
da Universidade Estácio de Sá em Belém (PA). Tem longa
A M A Z ÔN I A EM PER S PECTI VAS : CULT UR A, POE SI A, A RT E 215
experiência profissional em mídia, especialmente em televi-
são, onde já atuou como repórter, apresentadora, editora e
na chefia de reportagem. Áreas de interesse: comunicação,
televisão, identidades, Amazônia, narrativas, cultura, discur-
so, educomunicação. É membro da Sociedade Brasileira de
Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor).
Yasmin Serafim possui graduação em Letras – Língua e Literatura
Portuguesa pela Universidade Federal do Amazonas (2011),
mestrado em Letras – Literatura Portuguesa pela Universi-
dade de São Paulo (2014) e é doutoranda em Letras – Lite-
ratura Portuguesa na mesma universidade. Realiza pesquisa
nos seguintes temas: Literatura Contemporânea em Língua
Portuguesa e Literatura de Autoria Feminina. É membro do
Grupo de Estudos de Literatura de Autoria Feminina (USP) e
do Grupo de Pesquisa Relações de gênero, poder e violência
em literaturas de língua portuguesa (UFAM).
PR
PROGRAMA DE PÓS -GRADUAÇÃO EM LETRAS
U
UNIVERS IDADE FEDERAL DOAMAZONAS
Você também pode gostar
- Poéticas da Diversidade: Estudos de Literatura na ContemporaneidadeNo EverandPoéticas da Diversidade: Estudos de Literatura na ContemporaneidadeAinda não há avaliações
- Literatura e Praticas CulturaisDocumento240 páginasLiteratura e Praticas CulturaisKarlla Daniella GomesAinda não há avaliações
- A Poética de Paulo NunesDocumento29 páginasA Poética de Paulo NunesFabricio Augusto BastosAinda não há avaliações
- Sociedade, cultura e identidade em vidas secas, de Graciliano Ramos e os magros, de Euclides NetoNo EverandSociedade, cultura e identidade em vidas secas, de Graciliano Ramos e os magros, de Euclides NetoAinda não há avaliações
- Resumos OK e Corrigidos COMPLETO Publicação No Site 26 Nov 2013Documento367 páginasResumos OK e Corrigidos COMPLETO Publicação No Site 26 Nov 2013Rafaela Souza MaldonadoAinda não há avaliações
- FERNANDES - LIBRAS e ArteDocumento15 páginasFERNANDES - LIBRAS e ArteNemu LimaAinda não há avaliações
- Cartografia expandida: Educação, cultura e todas as letrasNo EverandCartografia expandida: Educação, cultura e todas as letrasAinda não há avaliações
- E-Book-Cadernos de Literatura e Diversidade-V.-3Documento174 páginasE-Book-Cadernos de Literatura e Diversidade-V.-3Helena FerreiraAinda não há avaliações
- Jove Da Mata: Identidade E Memória Na Literatura Popular SanfranciscanaNo EverandJove Da Mata: Identidade E Memória Na Literatura Popular SanfranciscanaAinda não há avaliações
- Literatura e MúsicaDocumento42 páginasLiteratura e MúsicaMharkos CaetannoAinda não há avaliações
- 5459-27146-1-PBDocumento11 páginas5459-27146-1-PBgodinhosayonaraAinda não há avaliações
- Poemas de Água: Teatro, Ação Cultural e Formação ArtísticaNo EverandPoemas de Água: Teatro, Ação Cultural e Formação ArtísticaAinda não há avaliações
- Geografia, Literatura e ArteDocumento464 páginasGeografia, Literatura e ArtePriscila Marchiori Dal GalloAinda não há avaliações
- Ler Imagens, Ver Palavras Correspondências entre Jorge Luis Borges e Hilal Sami HilalNo EverandLer Imagens, Ver Palavras Correspondências entre Jorge Luis Borges e Hilal Sami HilalAinda não há avaliações
- Estudos Culturais e ContemporaneidadeDocumento226 páginasEstudos Culturais e ContemporaneidadeTheodor AdornoAinda não há avaliações
- Revista ITACOATIARA PDFDocumento174 páginasRevista ITACOATIARA PDFRosana EduardoAinda não há avaliações
- Terra Roxa e Outras Terras - LITERATURA MSSDocumento8 páginasTerra Roxa e Outras Terras - LITERATURA MSSAmanda CunhaAinda não há avaliações
- Modernidade, mulher, imprensa: a revista o cruzeiro no brasil de 1928-1945No EverandModernidade, mulher, imprensa: a revista o cruzeiro no brasil de 1928-1945Ainda não há avaliações
- Educação patrimonial e memórias sensíveisDocumento16 páginasEducação patrimonial e memórias sensíveisHércules da Silva Xavier FerreiraAinda não há avaliações
- Encontros Entre Literatura e HistóriaDocumento436 páginasEncontros Entre Literatura e HistóriajosiuegAinda não há avaliações
- Cinema NordesteDocumento157 páginasCinema NordesteDiegoAlanoPinheiroAinda não há avaliações
- Através Dos Espelhos de Guimarães Rosa e Jostein Gaarder: Reflexos e FiguraçõesDocumento70 páginasAtravés Dos Espelhos de Guimarães Rosa e Jostein Gaarder: Reflexos e FiguraçõesGabrielaAinda não há avaliações
- Literatura e Linguística no MS: práticas de interculturalidadeDocumento336 páginasLiteratura e Linguística no MS: práticas de interculturalidadeCarla CristinaAinda não há avaliações
- Aletria - 40 Anos de Uma Literatura Nos Trópicos "Entre-Lugar", "Cosmopolitismo", "Inserção" (Silviano Santiago)Documento227 páginasAletria - 40 Anos de Uma Literatura Nos Trópicos "Entre-Lugar", "Cosmopolitismo", "Inserção" (Silviano Santiago)Eduardo SterziAinda não há avaliações
- Cultura, representações e a evolução de um programa de pós-graduação em 20 anosDocumento0 páginaCultura, representações e a evolução de um programa de pós-graduação em 20 anosCibele Piva FerrariAinda não há avaliações
- Desafio de fazer História com imagensDocumento19 páginasDesafio de fazer História com imagensErlan BelloLima100% (1)
- Literatura e PaisagemDocumento255 páginasLiteratura e Paisagembeto_33100% (1)
- LIVRO ANTOLOGIA - Prêmio - Proex - de - Literatura - 2 ED PDFDocumento235 páginasLIVRO ANTOLOGIA - Prêmio - Proex - de - Literatura - 2 ED PDFMax TeixeiraAinda não há avaliações
- Linhas de Frente Das Bandas Marciais de São Paulo: Tensão E NegociaçãoDocumento12 páginasLinhas de Frente Das Bandas Marciais de São Paulo: Tensão E NegociaçãoPollyanna FrançaAinda não há avaliações
- Aula 1 - Introdução À LiteraturaDocumento5 páginasAula 1 - Introdução À LiteraturaPré-Universitário Oficina do Saber UFFAinda não há avaliações
- Caderno de Resumos X Selisigno e Xi Simpósio de Leitura Da UelDocumento233 páginasCaderno de Resumos X Selisigno e Xi Simpósio de Leitura Da UelPatricia Veronica VeroniksAinda não há avaliações
- Diálogos Literários entre países de língua portuguesaDocumento5 páginasDiálogos Literários entre países de língua portuguesaRogeri Gindri de VargasAinda não há avaliações
- Trabalho Ev140 MD7 Sa100 Id5238 17092020173359Documento18 páginasTrabalho Ev140 MD7 Sa100 Id5238 17092020173359ClarissaAinda não há avaliações
- A Arte Das Narrativas Orais Urbanas - Performance Historia Memoria e FicçãoDocumento43 páginasA Arte Das Narrativas Orais Urbanas - Performance Historia Memoria e FicçãoAbigail ModestoAinda não há avaliações
- Literatura - Conceito e FunçõesDocumento4 páginasLiteratura - Conceito e FunçõesRaimundo Rodrigues RodriguesAinda não há avaliações
- Cultura 2772Documento372 páginasCultura 2772marciaAinda não há avaliações
- Filologia em Diálogo Descentramentos Culturais e Epistemológicos. (Coll.) (Z-Library)Documento531 páginasFilologia em Diálogo Descentramentos Culturais e Epistemológicos. (Coll.) (Z-Library)KarolindaAinda não há avaliações
- A relação homem e natureza na literatura: Estudos ambientais a partir de obras literáriasDocumento9 páginasA relação homem e natureza na literatura: Estudos ambientais a partir de obras literáriasMacilene AraujoAinda não há avaliações
- SERGIPANADocumento15 páginasSERGIPANALego DickAinda não há avaliações
- lingua cultura librasDocumento21 páginaslingua cultura librasCriseida Rowena Zambotto De LimaAinda não há avaliações
- 826 206 PB PDFDocumento120 páginas826 206 PB PDFIrisson ManoAinda não há avaliações
- A oralidade africana na poética dos slammersDocumento116 páginasA oralidade africana na poética dos slammersAparecida100% (1)
- Livro Literatura e Paisagem em Dialogo H PDFDocumento255 páginasLivro Literatura e Paisagem em Dialogo H PDFSandra Mara100% (1)
- Arte Sequencial em Perspectiva MultidiscDocumento286 páginasArte Sequencial em Perspectiva MultidiscRennan QueirozAinda não há avaliações
- Cultura Surda DefinidaDocumento4 páginasCultura Surda DefinidaElton Amorim0% (1)
- Livro Literatura e Multiplos Olhares PDFDocumento287 páginasLivro Literatura e Multiplos Olhares PDFCamila BrugnaraAinda não há avaliações
- Introducao CordelDocumento2 páginasIntroducao CordelRafael AlmeidaAinda não há avaliações
- CEI. FORTE. ALVES. Ética, Estética e Filosofia Da Literatura (ABRALIC 2018) PDFDocumento392 páginasCEI. FORTE. ALVES. Ética, Estética e Filosofia Da Literatura (ABRALIC 2018) PDFVitor Cei100% (1)
- Geografia, Literatura e Arte - Epistemologia, Crítica e InterlocuçõesDocumento463 páginasGeografia, Literatura e Arte - Epistemologia, Crítica e InterlocuçõesGLORIA MARIA DE OLIVEIRA SILVAAinda não há avaliações
- AnaisVSPLIT PDFDocumento270 páginasAnaisVSPLIT PDFEdinília CruzAinda não há avaliações
- Representações no ensino de HistóriaDocumento8 páginasRepresentações no ensino de HistóriaJefersonAinda não há avaliações
- O Antropologo Na Figura Do Narrador PDFDocumento19 páginasO Antropologo Na Figura Do Narrador PDFAna Carvalho da RochaAinda não há avaliações
- Cantigas de capoeira: vozes da história afro-brasileiraDocumento11 páginasCantigas de capoeira: vozes da história afro-brasileirariblopesAinda não há avaliações
- O Autor Como Curador - Livro Organizado C Luciene e Edma PDFDocumento284 páginasO Autor Como Curador - Livro Organizado C Luciene e Edma PDFjms_educadoraAinda não há avaliações
- CONFLUÊNCIAS ENTRE ROCK, LITERATURA e ÓPERADocumento10 páginasCONFLUÊNCIAS ENTRE ROCK, LITERATURA e ÓPERAJh SkeikaAinda não há avaliações
- Viagen Ao Rio Amazonas e Rio Negro WallaceDocumento622 páginasViagen Ao Rio Amazonas e Rio Negro WallaceAnderson MelloAinda não há avaliações
- A cruel pedagogia do vírusDocumento32 páginasA cruel pedagogia do vírusLeticiaAinda não há avaliações
- Feminino Caligrafia de DeusDocumento18 páginasFeminino Caligrafia de DeussenhordocasteloAinda não há avaliações
- Dossie Haroldo MaranhaoDocumento24 páginasDossie Haroldo MaranhaosenhordocasteloAinda não há avaliações
- Amazônia Na Encruzilhada - Míriam LeitãoDocumento580 páginasAmazônia Na Encruzilhada - Míriam LeitãosenhordocasteloAinda não há avaliações
- Viagen Ao Rio Amazonas e Rio Negro WallaceDocumento622 páginasViagen Ao Rio Amazonas e Rio Negro WallaceAnderson MelloAinda não há avaliações
- UFPA Mestrado em Literatura AmazônicaDocumento2 páginasUFPA Mestrado em Literatura AmazônicasenhordocasteloAinda não há avaliações
- BADIOU, Alain - Pequeno Manual de Inestética (Portugués)Documento94 páginasBADIOU, Alain - Pequeno Manual de Inestética (Portugués)Revistalápizcero Cultura Transdisciplinar100% (5)
- O Negrinho Do Pastoreio - Folclore Ou Religião (Artigo) Autor Prefeitura de Dom FelicianoDocumento2 páginasO Negrinho Do Pastoreio - Folclore Ou Religião (Artigo) Autor Prefeitura de Dom FelicianoRebecaFidelisHortaAinda não há avaliações
- Mil Platôs Vol. 1 PDFDocumento94 páginasMil Platôs Vol. 1 PDFPaulo VictorAinda não há avaliações
- DELEUZE, G GUATTARI, F. Mil Platôs - Capitalismo e Esquizofrenia, Vol. 2 PDFDocumento96 páginasDELEUZE, G GUATTARI, F. Mil Platôs - Capitalismo e Esquizofrenia, Vol. 2 PDFAna Carolina100% (2)
- Xamanismo transversal: a cosmopolítica amazônica segundo Lévi-StraussDocumento10 páginasXamanismo transversal: a cosmopolítica amazônica segundo Lévi-StrausssenhordocasteloAinda não há avaliações
- DELEUZE, G GUATTARI, F. Mil Platôs - Capitalismo e Esquizofrenia, Vol. 2 PDFDocumento96 páginasDELEUZE, G GUATTARI, F. Mil Platôs - Capitalismo e Esquizofrenia, Vol. 2 PDFAna Carolina100% (2)
- Mil Platôs Vol. 1 PDFDocumento94 páginasMil Platôs Vol. 1 PDFPaulo VictorAinda não há avaliações
- Livro Pedagogia Do Esporte Descobrindo Novos CaminhosDocumento246 páginasLivro Pedagogia Do Esporte Descobrindo Novos Caminhosatleticahipertensa uegAinda não há avaliações
- ADM - Ebook Técnicas de Negociação (2024)Documento54 páginasADM - Ebook Técnicas de Negociação (2024)kaiquebernadAinda não há avaliações
- 957 423 PBDocumento300 páginas957 423 PBgeral_saraiva4012Ainda não há avaliações
- Desenho infantilDocumento17 páginasDesenho infantilDouglas RochaAinda não há avaliações
- Livro Texto Semc3a2ntica PDFDocumento151 páginasLivro Texto Semc3a2ntica PDFKelly Cristina Soares100% (1)
- A Integração Da Segurança Pública e Da Segunça Privada Integrada Frente Ao Combate A Criminalidade No BrasilDocumento23 páginasA Integração Da Segurança Pública e Da Segunça Privada Integrada Frente Ao Combate A Criminalidade No BrasilAnderson RodriguesAinda não há avaliações
- A Voz Da SerenidadeDocumento11 páginasA Voz Da SerenidaderafaeldamettoAinda não há avaliações
- O CARISMÁTICO MINISTRO Gordon-Lindsay PDFDocumento142 páginasO CARISMÁTICO MINISTRO Gordon-Lindsay PDFLeandro SantoroAinda não há avaliações
- MAri - ATIVIDADE RECUPERATIVA - NOTA QUARTO BIMESTREDocumento3 páginasMAri - ATIVIDADE RECUPERATIVA - NOTA QUARTO BIMESTREMARIANA LUPATINIAinda não há avaliações
- LP Encarte A Palavra Magica PNLD2020Documento8 páginasLP Encarte A Palavra Magica PNLD2020ana ackermanAinda não há avaliações
- PLANO ENSINO 1º AO 5º 2021 Revisado (1) Ok (2305843009214044250)Documento539 páginasPLANO ENSINO 1º AO 5º 2021 Revisado (1) Ok (2305843009214044250)Kleide ValentinaAinda não há avaliações
- Linguagem Corporal E As Parábolas: Uma Análise A Partir de MC 4,1-9 José Carlos LeandroDocumento10 páginasLinguagem Corporal E As Parábolas: Uma Análise A Partir de MC 4,1-9 José Carlos LeandroGiovani AdoradorAinda não há avaliações
- Relações Étnico-Raciais e ResponsabilidadeDocumento204 páginasRelações Étnico-Raciais e ResponsabilidadeDanylo EstevanAinda não há avaliações
- (Traduzido) Why Do I Feel Like An Imposter How To Understand and Cope With Imposter Syndrome (Dr. Sandi Mann)Documento151 páginas(Traduzido) Why Do I Feel Like An Imposter How To Understand and Cope With Imposter Syndrome (Dr. Sandi Mann)Paloma SilvaAinda não há avaliações
- A centralidade da subjetividadeDocumento16 páginasA centralidade da subjetividadeWillian Passos100% (1)
- Ebook Chakra LaringeoDocumento12 páginasEbook Chakra LaringeoGuilherme BlaszakAinda não há avaliações
- O ócio criativo e suas perspectivas na educaçãoDocumento17 páginasO ócio criativo e suas perspectivas na educaçãoLara ArcochaAinda não há avaliações
- (Vida Adulta) ...Documento10 páginas(Vida Adulta) ...Kalahari HkcAinda não há avaliações
- Exercicios Missao Visao ValoresDocumento4 páginasExercicios Missao Visao ValoresCamilla SilvaAinda não há avaliações
- Como Pensar em Deus 1Documento5 páginasComo Pensar em Deus 1IvanViveirosAinda não há avaliações
- As categorias geográficas e respostas aos problemas sociaisDocumento416 páginasAs categorias geográficas e respostas aos problemas sociaisTheresaAinda não há avaliações
- Vista Do MOVIMENTOS PENDULARES E ACUMULAÇÃO DO CAPITALDocumento24 páginasVista Do MOVIMENTOS PENDULARES E ACUMULAÇÃO DO CAPITALJoni TavaresAinda não há avaliações
- As distopias literárias como aviso para a sociedadeDocumento106 páginasAs distopias literárias como aviso para a sociedadejorge matosAinda não há avaliações
- Como Se Tornar Inesquecível Dale Carnegie (1)Documento242 páginasComo Se Tornar Inesquecível Dale Carnegie (1)Daniel Heitor Silva AssisAinda não há avaliações
- Vol. 4Documento343 páginasVol. 4vitor britoAinda não há avaliações
- Neopositivismo e Filosofia da LinguagemDocumento16 páginasNeopositivismo e Filosofia da LinguagemAngelo MatavelAinda não há avaliações
- Claire Contreras - Naughty Royals 01 - The Sinful King PDFDocumento397 páginasClaire Contreras - Naughty Royals 01 - The Sinful King PDFHellen VianaAinda não há avaliações
- Utupë - A Imaginacao Conceitual de Davi K.Documento24 páginasUtupë - A Imaginacao Conceitual de Davi K.Giovanna Mont'MorAinda não há avaliações
- Start! Hora do desafio MAPPADocumento114 páginasStart! Hora do desafio MAPPASergio OliveiraAinda não há avaliações
- Wade Nobles. EBOOK FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA AFRICANA - SANKOFA INSTITUTO DE PSICOLOGIADocumento72 páginasWade Nobles. EBOOK FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA AFRICANA - SANKOFA INSTITUTO DE PSICOLOGIADinara CarvalhoAinda não há avaliações
- O cemitério das palavras que eu nunca disse: Poemas de uma garota não tão comum sobre o cotidianoNo EverandO cemitério das palavras que eu nunca disse: Poemas de uma garota não tão comum sobre o cotidianoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (10)
- Liderança: Guia De Gestão Para Ser Excepcional Em Influencia, Comunicação E Tomada De DecisãoNo EverandLiderança: Guia De Gestão Para Ser Excepcional Em Influencia, Comunicação E Tomada De DecisãoAinda não há avaliações
- Patologias do social: Arqueologias do sofrimento psíquicoNo EverandPatologias do social: Arqueologias do sofrimento psíquicoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Lendo a Bíblia livro por livro: Um guia prático de estudo panorâmico da BíbliaNo EverandLendo a Bíblia livro por livro: Um guia prático de estudo panorâmico da BíbliaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (8)
- 1.000 Dicas Para Uma Escrita Criativa, Volume 2: Mais Dicas Para Blogs, Roteiros, Narrativas E Muito MaisNo Everand1.000 Dicas Para Uma Escrita Criativa, Volume 2: Mais Dicas Para Blogs, Roteiros, Narrativas E Muito MaisAinda não há avaliações
- Introdução a Sociologia: Marx, Durkheim e Weber, referências fundamentaisNo EverandIntrodução a Sociologia: Marx, Durkheim e Weber, referências fundamentaisNota: 5 de 5 estrelas5/5 (3)
- História dos Testes Psicológicos: Origens e TransformaçõesNo EverandHistória dos Testes Psicológicos: Origens e TransformaçõesAinda não há avaliações
- Contos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNo EverandContos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (8)
- Tudo tem uma explicação: A biologia por trás de tudo aquilo que você nunca imaginouNo EverandTudo tem uma explicação: A biologia por trás de tudo aquilo que você nunca imaginouNota: 4 de 5 estrelas4/5 (5)
- A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnicaNo EverandA obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnicaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (3)
- Metodologia da pesquisa: Abordagem teórico-práticaNo EverandMetodologia da pesquisa: Abordagem teórico-práticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)