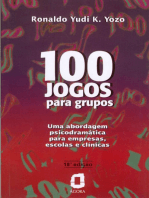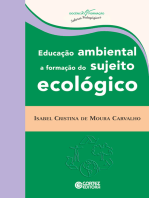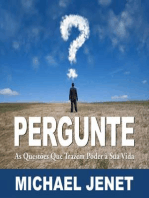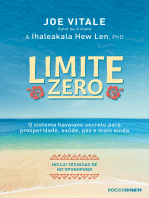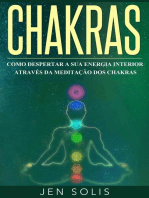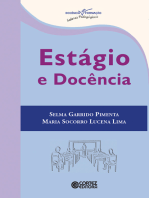Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Operacionalidade Do Jogo
Enviado por
coisasobjetosetralhasDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Operacionalidade Do Jogo
Enviado por
coisasobjetosetralhasDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cadernos de Arte e Antropologia
Vol. 7, No 2 | 2018
A operacionalidade do jogo
The operativity of play
Fernanda Eugénio e Ricardo Seiça Salgado (dir.)
Edição electrónica
URL: http://journals.openedition.org/cadernosaa/1319
DOI: 10.4000/cadernosaa.1319
ISSN: 2238-0361
Editora
Núcleo de Antropologia Visual da Bahia
Refêrencia eletrónica
Fernanda Eugénio e Ricardo Seiça Salgado (dir.), Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018,
« A operacionalidade do jogo » [Online], posto online no dia 01 outubro 2018, consultado o 31 março
2020. URL : http://journals.openedition.org/cadernosaa/1319 ; DOI : https://doi.org/10.4000/
cadernosaa.1319
Este documento foi criado de forma automática no dia 31 março 2020.
© Cadernos de Arte e Antropologia
1
SUMÁRIO
Dossiê "A operacionalidade do jogo"
Editorial
Introdução: A Operacionalidade do Jogo
Fernanda Eugenio e Ricardo Seiça Salgado
Artigos
O AND é Jogo? Ensaio-conversa à Volta da Operacionalidade do Jogo no Modo Operativo AND
Fernanda Eugenio e Ricardo Seiça Salgado
AND … What’s in a name? AND … What´s in a game?
Ana Dinger
“Práticas de Atenção”: Ensaios de Desterritorialização e Performance Coreográfica
Sílvia Pinto Coelho
In_Trânsito: o Jogo com o Real em uma Odisseia sobre Trilhos
Isabel Penoni e Joana Levi
Teaching Anthropology Speculatively
Andrea Gaspar
Ensaios (audio)visuais
Toys and Us: A Visual Essay on Toy Photography
Debora Baldelli
Artigos
La Representación del Espacio Misional y los Indígenas Evangelizados en las Fotografías de
las Misiones Anglicanas y Salesianas de Tierra del Fuego (1869-1947)
Ana Butto
(Re)Montando Miyasaka: Imagens, Reflexões e Experimentações
Rafael F. A. Bezzon
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
2
Fernanda Eugénio e Ricardo Seiça Salgado (dir.)
Dossiê "A operacionalidade do jogo"
Special Issue "The operativity of play"
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
3
Dossiê "A operacionalidade do jogo"
Editorial
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
4
Introdução: A Operacionalidade do
Jogo
Fernanda Eugenio e Ricardo Seiça Salgado
1 A chamada para artigos deste dossiê pretende discutir o conceito de jogo na sua
operacionalidade nomeadamente como o jogo serve de laboratório experimental de
procedimentos, como o jogo é posto em prática e que consequências este fazer
proporciona, contribuindo para uma heurística da análise sociocultural. O foco elenca
então a articulação de vários “comos”:
2 1) a forma como o jogo se faz dispositivo (ou contra-dispositivo do senso comum) para a
invenção coletiva e dissensual do comum, permitindo desvincular a prática da
comunidade dos mecanismos identitários da pertença e da reprodução, bem como re-
situar o seu entendimento enquanto processo de vinculação sempre em aberto: nem
essência nem substância, mas potência de relação que está sempre por ser efetuada a
cada vez;
3 2) a forma como o jogo está a ser ativado, em diferentes áreas, enquanto prática
exploratória – explicitando o que um corpo pode e contribuindo para a reimaginação da
corporeidade e dos modos de estar no mundo;
4 3) a forma como o jogo pode funcionar como plano de re-performance e/ou como chave
analítica para dar a ver as complexas relações éticas, estéticas e políticas implicadas na
constante negociação social dos lugares de fala, das representações e das formações
subjetivas;
5 4) a forma como o jogo é usado para a reinvenção de práticas pedagógicas e de práticas
metodológicas;
6 5) a forma como o jogo, nas suas engrenagens e de dinâmica processual, se relaciona
com a utopia ou com a vanguarda e se pode concretizar enquanto heterotopia.
Para uma definição de jogo
7 O conceito transdisciplinar de jogo aparece ao longo das várias epistemologias e teorias
resultantes que lhes estão subjacentes numa espécie de batalha que já vem da era
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
5
helênica, entre Dionísio e Apolo (Spariosu 1989). Em Dionísio, a ideia de jogo aparece
como algo pré-racional, seja a manifestação de um incessante devir, seja um modo de
ser que opera no “como se”, numa liberdade irrestrita, uma mimese-jogo em que o
poder se representa a si mesmo como o jogo do devir físico livre, espontâneo e violento,
num mundo aleatório de forças e conflitos arbitrários e que denotam a fantasia
agonística dos deuses. Roger Caillois (1990) diria a paidia – a possibilidade completa do
jogo livre improvisado, fantasioso, coberto de energia, entusiasmo, diversão e
turbulência. Há vários adjetivos que dão conta deste descentramento do jogo, todos eles
abordando o mesmo território de significado. Sutton-Smith (2001: 56) chama de “jogo
cruel”, ou “máscaras do jogo” o que Schechner (1993) chamou de “jogo obscuro” (dark
play), um conceito que envolve fantasia, risco, sorte, que subverte a ordem, dissolve os
enquadramentos, quebrando as suas próprias regras. É o lado subversivo do jogo, uma
vez que as suas agendas estão escondidas, dissimuladas. Da antropologia, conhecemo-lo
como “jogo profundo” ou “jogo absorvente” (deep play), formulado por Clifford Geertz
(1993). É o território da ousadia, tomar a sorte na potência de um mundo de
possibilidades, mas também a prática de uma comunidade que se reinventa, que produz
cultura.
8 Do outro lado da ambiguidade que é o jogo, Apolo complementa de forma antitética e
determina, por assim dizer, o que o senso comum deve saber incorporar. Aqui toma-se
o jogo como uma interação determinada pelas regras da necessidade e do acaso, como
uma liberdade racional ou limitada, uma mimese-imitação em que o poder se apresenta
como Ser, Razão e ordem imutável (Spariosu 1989: 19). A esta tendência, Caillois (1990)
chamou de ludus, resultante da tendência disciplinadora, em que as regras e convenções
se sedimentam no jogo, controlando os comportamentos possíveis dos jogadores. O
problema é que ao longo da história das várias correntes filosóficas ocidentais, como
Spariosu no mesmo texto adverte, tem sido difícil produzir uma teoria que conecta os
dois paradigmas. Como nos diz Robert Fagen (em Sutton-Smith 2001: 2), o conceito de
jogo escarnece-nos com a sua inacessibilidade. Pressentimos que há algo por detrás dele
e que desconhecemos, ou esquecemos o modo como “chegar lá!”
9 A ambiguidade do jogo emerge, em primeiro lugar, da sua natureza. Gregory Bateson
(1987) demonstrou o caráter paradoxal do jogo, na medida em que o jogo “é” e,
simultaneamente, “não é” o que aparenta ser. Uma beliscadura brincalhona, por
exemplo, pode não ser uma mordidela mas é, de facto, o que uma mordidela significa, a
forma de indicar um negativo através de uma ação afirmativa que é claramente
desigual ao que representa (ibidem: 140). Schechner (Sutton-Smith 2001: 1) acrescenta
que uma beliscadura brincalhona não é apenas uma não-mordidela, é igualmente uma
não-não-mordidela, sugerindo que é positiva a soma de dois negativos. Assim, para
Bateson, a natureza paradoxal do jogo é que ele não é somente jogo, é igualmente uma
mensagem sobre si próprio, uma metamensagem. Pertence simultaneamente ao mundo
e não é deste mundo. O jogo é um tipo de comunicação, na medida em que a mensagem
“isto é jogo” é percebida e, com ela, operam os comportamentos que lhe estão
subjacentes. Sutton-Smith (ibidem: 23) acrescenta ainda que o jogo, para além do tipo
ou modo de comunicação, é igualmente um tipo de ação, uma categoria distinta do
comportamento.
10 Huizinga (2003) define jogo e relaciona-o com a cultura. Walter Benjamin (2002) diz-nos
que o hábito entra na vida como jogo, mobilizando emoções e inspirando prazer,
embora exigindo repetição ou mimese renovada. Sutton-Smith (2001: 214-231), indo
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
6
mais longe, numa revisão de estudos das várias disciplinas do conhecimento, define o
jogo como uma “facsimilização da luta pela sobrevivência”, uma vez que há uma
transferência potencial de aptidões que o jogo trabalha para a vida produzindo, assim,
uma retórica-síntese: o jogo como variabilidade adaptativa. O jogo reforça a
variabilidade do organismo para fazer face a “rigidificações da adaptação bem-
sucedida”, a um adormecimento dos procedimentos que possa vir a comprometer o
futuro. Por isso, o jogo funciona justamente como um laboratório experimental de
procedimentos, de mecanismos de produzir extensões que amplificam a capacidade de
resposta de um organismo perante o desconhecido ou uma qualquer adversidade. Há
um potencial adaptativo no jogo.
11 Apoiando-se nos três princípios que Stephen Gould atribui à variabilidade que
caracteriza a evolução biológica (ibidem), em vez de precisão na adaptação, as várias
metáforas do jogo são constituídas num modelo de variabilidade. Em primeiro lugar,
estruturalmente, o jogo (como a evolução biológica), é caracterizado por mudanças
subtis e peculiares. Há um potencial latente, uma excentricidade que acontece e que
perdura. Depois, o processo subjacente a estas mudanças excêntricas do jogo são
redundantes, isto é, não são imediatamente requeridas para a adaptação, não têm
função imediata na vida. Reproduzem-se, antes, em estruturas similares
potencialmente disponíveis para o futuro. E finalmente, a variabilidade excêntrica e a
redundância múltipla são geradas de uma forma flexível, algo que pode estar na base do
jogo ser motivante e estimulante, aquilo que Csikzentmihalyi (1975; 2002) chama de
experiência autotélica, ou fluxo.
12 As principais características da experiência ótima que é o fluxo são (ibidem): claridade
nos objetivos e no feedback auferido; envolvimento intenso no fazer; uma perda de
sentido do tempo; concentração profunda; mas, simultaneamente, há uma falta de
autoconsciência. Há uma transcendência do sentido de self, conduzindo a uma
experiência autotélica (que tem um fim em si mesmo, não necessita de objetivos ou
recompensas exteriores ao próprio jogo), uma experiência intrinsecamente
recompensadora. Se as aptidões forem maiores que as exigências facilmente o
aborrecimento substitui o fluxo; é possível vir a despertar ansiedade se as aptidões
forem inadequadas e os desafios decisivos; se houver uma falta de aptidões e de
desafios, a apatia será o mais certo. A própria possibilidade da batotice fratura a crença
no dispositivo que o jogo promete, quebra as regras, mas também contribui para a
quebra do fluxo, não se constituindo, como tal, num comportamento alternativo.
13 Tanta replicação, tanto prazer, tanta flexibilidade sugere que a função do jogo seria
então a de reforçar a variabilidade adaptativa do organismo (Sutton-Smith 2001). Tal
facto é congruente com o papel que tem na variabilidade cultural, na produção de
comportamentos alternativos em grupo. Quando no campo da arte, o jogo toma um
papel preponderante na produção das vanguardas artísticas. Pelo menos no campo das
artes da performance, cada linguagem ou lógica de procedimentos em experimentação
é ativado por um treino específico que a veicula e que emerge em grande medida a
partir de jogos ou exercícios desenvolvidos, enquanto ferramentas do fazer.
14 Estruturar o esforço para uma definição de jogo, tal como nos sugere Schechner (1993:
25-26), determina a modelação da sua definição, configurando: (1) a estrutura do jogo:
leva-nos a encará-lo sincronicamente e a perceber as unidades de comportamento que
se constituem e se encaixam num todo coerente, atos que requerem um certo tipo de
relações para que o evento se constitua num ato inserido no jogo; (2) o processo do
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
7
jogo: olhamos agora o jogo diacronicamente referindo-nos às várias fases do seu
desenvolvimento, às estratégias empregues e acontecimentos em cada fase do jogo e
como elas o vão determinando, em todas as suas consequências, até ao fim do jogo. A
estrutura e o processo devem ser encarados como um par relacionado; (3) a experiência
de jogar: refere-se aos sentimentos, aos temperamentos dos jogadores e dos
espectadores, às suas experiências, e de como é que elas afetam o desempenho, como
vão mudando e se chega à conclusão de que o jogo foi bom ou mau; (4) a função do jogo:
mostra os propósitos que o jogo serve, a forma como afeta a aprendizagem, o
crescimento e a criatividade individual e coletiva; (5) a ideologia do jogo: aponta para os
valores políticos, sociais e individuais que um jogo enuncia, propaga, critica, e expressa
(explícita ou implicitamente); (6) O enquadramento tem que ver com a determinação do
contexto e dos procedimentos específicos do contexto, em ordem à interpretação
(Stewart 1989). Diz respeito ao que informa os jogadores e espectadores que o jogo
começa, acontece e acaba, e em como a mensagem “agora estou a jogar” é recebida e
interpretada, isto é, que meta-jogo enquadra determinado jogo.
15 Avança-se então uma síntese das qualidades estruturais do jogo: (1) envolve
voluntariedade para jogar e liberdade no jogo que se joga; (2) produz o
reenquadramento das mensagens, o que implica uma sensação de deslocamento, de
transformação do quotidiano; conjuntividade e, por isso, transporte do jogador para
uma outra mundividência (Schechner 1985); (3) um conjunto de regras ou
procedimentos para a interpretação que pode não ser consentânea com as da vida real;
(4) metacomunicação (Bateson 1987), uma vez que o jogo começa por se referir a si
próprio, introduzindo a possibilidade de se reinventar e reclassificar as ações, e
desenvolver novos enquadramentos, mesmo que paradoxalmente; (5) reflexividade, isto
é, a ação exerce-se sobre a própria prática do jogo, e sobre o sujeito que o pratica; (6)
liminaridade (Turner 1992) e paradoxo, está no domínio do “como se”. O jogo não é
aquilo que representa e, portanto, o que representa não existe. Ao ser liminar, inverte e
subverte a realidade e a estrutura social mundana, e todos os papéis que nela
desempenhamos podem desconhecer a lógica das hierarquias impostas na esfera
pública. Em última análise, “a sabedoria transmitida na liminaridade (…) tem valor
ontológico, remodela o ser” (Turner 1974: 127), e fá-lo através de uma invisibilidade
estrutural; (8) o jogo envolve expressões, isto é, objetivações, representações,
sedimentações que resultam da experiência do ato de jogar.
16 O jogo é um estado de espírito, um modo de ver, de ser e de estar, uma atitude, um
querer que se projeta para o futuro. O que será adaptativo no jogo podem não ser as
aptidões que fazem parte dele, mas a confiança, convicção e desejo da sua própria
capacidade para um futuro. É como se o oposto do jogo fosse a depressão, a vacilação, o
estéril. Gadamer (1999) demonstra a realidade objetiva do estado existencial que o jogo
induz ou elicia. O jogo é uma espécie de resgate, uma energia de pura realização, em
que as reações são mais involuntárias que voluntárias; o jogo toma conta do self, é
independente dos jogadores e consiste numa espécie de movimento de um lado para o
outro, sem outro objetivo que não seja dentro e para o próprio jogo. Evidentemente que
cada um se voluntaria para jogar. Contudo, uma vez dentro do jogo, é ele que nos joga,
renovando-se em cada permanente repetição. É o jogo que determina a atitude do
jogador emergindo, portanto, igualmente, uma presença ou auto(re)presentação do
jogador, para além do jogador “ser jogado” (Spariosu 1989: 138).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
8
17 O jogo não tem outro propósito que não o de se referir a si próprio, embora,
surpreendentemente, a sua natureza torna-se central para a vida real. O jogo abre
espaço de possibilidade para a experimentação, retirando-se dos hábitos, do rigor e
inflexibilidade da consciência. Sutton-Smith (2001: 157-159) serve-se do estudo de Greta
Fein, para referir que o “jogo a fingir” das crianças é frequentemente uma distorção
absurda ou ridícula do mundo de expectativas, é extravagante, exagerado, roça o
bizarro. O que se sugere é que as fantasias das crianças não são apenas miméticas (a
mimese-imitação), no sentido de replicação do mundo, elas servem para criar um outro
mundo que segue o seu próprio curso, funcionando também por via da metonímia (a
mimese-jogo). E essa experiência da vida própria do “jogo a fingir” excede-se a si
própria, confere prazer, motiva, é uma experiência que transcende os seus limites
habituais.
18 É por isso melhor pensar o jogo como um advérbio, como nos sugere Susan Millar
(1971). Como advérbio, o jogo produz possibilidades, junta-se aos verbos, adjetivos e
outros advérbios para lhes mudar a significação. Tal facto indica que talvez seja melhor
definir o jogo pelo que ele faz, pela sua função, em vez de lhe dar uma definição pelo
que significa (Spariosu 1989: 3). É preciso olhar o jogo como um conceito operatório. É
esse o propósito do jogo, a criação de mais possibilidades para ele próprio, a expansão.
Isto distingue-o da criatividade, onde se produzem objetos em que se implica sempre a
objetivação e não apenas a sua existência enquanto universo de possibilidade. Se o jogo
não precisa necessariamente de ser criativo, a criatividade precisa do jogo. O jogo está
“entre” e “para além”. Como diz Turner, “talvez [o jogo] seja o modo mais apropriado
de performance” (Turner 1986: 32, parêntesis retos meus).
Estrutura do dossiê
19 A escolha dos artigos para este dossiê teve em conta os princípios delineados nesta
introdução, jogando com a articulação de vários “comos”. Faz algum tempo que o
Ricardo e a Fernanda se prometiam a si próprios olhar em conjunto o Modo Operativo
AND, uma prática da convivência e experimentação do comum que a Fernanda
desenvolve há muitos anos. Publicamos finalmente um ensaio-conversa que consuma
justamente esse desejo, sob o título O AND é jogo? Ensaio-conversa à volta da
operacionalidade do jogo no Modo Operativo AND. O tema adensa-se com o artigo seguinte
de Ana Dinger, agora ela a olhar para o AND: em AND… What’s in a name?... AND… What´s
in a game?, explora o que se aglutina no conectivo E evocado nesta prática, desdobrando
outras dimensões em que o jogo atua no âmbito desta pesquisa, nomeadamente o plano
dos jogos de palavras que permitem ir constituindo um vocabulário comprometido com
a performatividade dos conceitos, tornados ferramentas.
20 Abrindo o jogo AND, embora não saindo totalmente dele, Sílvia Pinto Coelho continua
em interlocução com as questões éticas e estéticas implicadas na constituição do
comum, agora situando-as no plano da performance coreográfica e da dança
contemporânea. Propõe, para este dossiê, um olhar aos processos de Lisa Nelson e de
João Fiadeiro, concretizando-os como práticas de atenção, abrindo caminho para
pensar o que o jogo também faz. Isabel Penoni e Joana Levi transportam-nos, a seguir,
para o campo do teatro contemporâneo, convidando-nos para a viagem-jogo da
performance site-specifc “In_Trânsito – Odisseias Urbanas”. Enquadrando diferentes
tipos de jogo, as autoras trabalham a resultante ambiguidade entre realidade e ficção,
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
9
nesse atravessamento pelo real contemporâneo. O artigo seguinte, de Andrea Gaspar,
traz-nos o eco da abertura dionisíaca do jogo na pedagogia e experimentação
especulativa e dos seus efeitos imprevisíveis no seio do ensino e da aprendizagem da
Antropologia a alunos de Licenciatura.
21 O dossiê aborda, assim, diferentes ativações do jogo, distribuídas entre a antropologia e
a performance: inicia com os textos dedicados ao Modo Operativo AND, que atua o jogo
a partir do deslocamento da antropologia para a performance, e finaliza, inversamente,
com uma reflexão situada no deslocamento da performance para a antropologia,
propiciadora de experimentações pedagógicas. Entre uma e outra gradação deste
trajeto, detêm-se em abordagens e usos performativos do jogo nas artes vivas da dança
e do teatro. Por fim, o dossiê fecha-se com um gesto de abertura, acolhendo o foto-
ensaio experimental de Débora Baldelli, que explora, a partir de um limiar auto-
etnográfico, a relação entre adultos e brinquedos.
BIBLIOGRAFIA
Bateson, Gregory. 1987. Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology,
Psychiatry, Evolution, and Epistemology. Northvale, New Jersey, London: Jason Aronson Inc.
Benjamin, Walter. 2002. Reflexões sobre a Criança, o Brinquedo e a Educação. São Paulo: Editora
34.
Caillois, Roger. 1990. O Jogo e os Homens: a Máscara e a Vertigem. Lisboa: Ed. Cotovia.
Certeau, Michel de. 1998 (1990). A Invenção do Cotidiano. Petrópolis: Editora Vozes.
Csikszentmihalyi, Mihaly. 2002. Fluir: a Psicologia da Experiência Óptima. Medidas para Melhorar
a Qualidade de Vida. Lisboa: Relógio d’Água.
______. 1975. Beyond Boredom and Anxiety: Experiencing Flow in Work and Play. San Francisco:
Jossey-Bass.
Gadamer, Hans-Georg. 1999. “A Ontologia da Obra de Arte e seu Significado Hermenêutico.” Pp.
174-269 em Verdade e Método: Traços Fundamentais de uma Hermenêutica Filosófica, editado
por H. Gadamer. Petropólis, Rio de Janeiro: Editora Vozes.
Geertz, Clifford. 1993 (1973). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. London: Fontana
Press.
Huizinga, Johan. 2003. Homo Ludens: um Estudo sobre o Elemento Lúdico da Cultura. Lisboa:
Edições 70.
Millar, Susanna. 1971. The Psychology of Play. London: Pelican Books.
Schechner, Richard. 1993. The Future of Ritual: Writings on Culture and Performance. London,
New York: Routledge.
______. 1985. Between Theatre and Anthropology. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
10
Spariosu, Mihai I.. 1989. Dionysus Reborn: Play and the Aesthetic Dimension in Modern
Philosophical and Scientific Discourse. Ithaca, London: Cornell University Press.
Stewart, Susan A.. 1989. Nonsense: Aspects of Intertextuality in Folklore and Literature.
Baltimore, London: The Johns Hopkins University Press.
Sutton-Smith, Brian. 2001. The Ambiguity of Play. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard
University Press.
Turner, Victor Witter. 1992. From Ritual to Theatre: The Human Seriousness of Play. New York:
PAJ Publications.
Turner, Victor Witter. 1986. Body, Brain and Culture. Performing Arts Journal, 1 (2): 26-34.
Turner, Victor Witter. 1974. O Processo Ritual: Estrutura e Anti-Estrutura. Petrópolis: Editora
Vozes.
AUTORES
FERNANDA EUGENIO
AND Lab, Rio de Janeiro, Brasil
fe.eugenio@gmail.com
RICARDO SEIÇA SALGADO
CRIA-UMinho, Braga, Portugal
ricardoseica@gmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
11
Dossiê "A operacionalidade do jogo"
Artigos
Articles
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
12
O AND é Jogo? Ensaio-conversa à
Volta da Operacionalidade do Jogo
no Modo Operativo AND
Is AND a game? An essay-conversation on the operability of play in Modus
Operandi AND
Fernanda Eugenio e Ricardo Seiça Salgado
NOTA DO EDITOR
Recebido em: 2018-04-06
Aceitado em: 2018-06-14
O jogo
1 A conversa que aqui se publica resulta de uma proposta que o Ricardo faz à Fernanda. A
pergunta se o Modo Operativo AND é jogo levou-nos a produzir previamente à conversa
um texto em que o Ricardo explicaria o que se poderá entender por jogo e a Fernanda o
que se entende por MO_AND. A leitura recíproca dos textos funcionaria como gatilho
para a conversa, desenhando também o campo de forças a percorrer. O primeiro texto
incorporou-se na introdução deste dossiê, “Para uma definição de jogo”, o segundo
encontra-se disponível no AND Doc, Acervo Digital do AND Lab, sob o título “Para uma
situ-ação do Modo Operativo AND” (Eugenio 2018). Na última rodada da conversa,
invertem-se repentinamente os papéis e é a Fernanda que pergunta ao Ricardo porque
é que o MO_AND é jogo.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
13
Modo Operativo AND em 10 Posições
2 1. As “regras” deste jogo emergem do próprio jogar. Condição para as encontrar: a)
inibir o hábito de querer perceber, de tentar compreender, de julgar saber; b) ativar a
sensibilidade do “saborear”, isto é, deixar que seja o acontecimento a manifestar ao que
sabe. Numa frase: substituir o “saber” pelo “sabor”.
3 2. O jogo começa quando o inesperado irrompe. Quando se dá um acidente. Perante o
vazio que se instala: fazer nada. “Fazer nada” não é parar – estacar, paralisar – mas sim
re-parar (re = repitação), ou seja, voltar a parar para reparar (perscrutar).
4 3. Enquanto “faz nada”, repare onde está, no que há à volta, no “Quê” daquilo que se
apresenta – este “Isso” inominável que o acidente manifesta, a cada vez, como “Isto”
singular. Repare também naquilo que tem para oferecer, na condição de se encaixar no
acontecimento.
5 4. A haver um único objetivo neste jogo é conseguir a transferência do protagonismo do
sujeito para o acontecimento. Essa transferência dá-se substituindo as perguntas
habituais do sujeito – quem e porquê – com as interrogações que o acontecimento nos
coloca: o quê, como, onde e quando. Pergunte à situação que se apresenta: O quê, no
que aí está? Como, com este quê? Onde-quando, com este como?
6 5. Para participar no jogo, não tente contribuir tendo um fim em mente e muito menos
tendo o início como ponto de partida. Este jogo começa sempre pelo meio.
7 6. As regras são encontradas após um mínimo de 3 tomadas de posição e 2 entradas em
relação: a) A primeira posição oferece o meio no qual reparar; b) A segunda posição
entra em relação com a matéria oferecida pela primeira, sugerindo uma direção; c) A
terceira posição entra em relação com a relação sugerida pela segunda, confirmando
uma direção partilhada, o plano comum.
8 7. Uma vez encontrado o plano (geométrico) comum – um sentido-direção e não um
sentido-significado – jogar o jogo é adiar o fim. Única tarefa: sustentar a vitalidade
desse plano através do manuseamento das doses de diferença e repetição introduzidas
na relação a cada momento. Condições para se adiar o fim: aceitar o fim e antecipar o
fim. Aceitar a “finitude”, de modo a trabalhar pela “ilimitude”; antecipar os sinais de
“finitude”, de modo a usa-los no manusear da “ilimitude”.
9 8. Este é um jogo de perguntas silenciosas: cada jogada é oferecida e recebida sem
resposta, explicação ou interpretação. Para que as tomadas de posição possam
dispensar justificações, precisam de ser, ao mesmo tempo, abertas e completas (e não
fechadas e incompletas) e explícitas e consistentes (e não implícitas e coerentes).
10 9. O Jogo AND, se for jogado segundo os princípios aqui enunciados, nunca termina. A
não ser que seja interrompido por um acidente.
11 10. Nesse caso, pare, repare e volte a jogar.
O «nonsense» e as regras do MO_AND
12 RICARDO – Todos os jogos necessitam de regras. São elas que nos forçam a sair das
lógicas da vida e a entrar na esfera do jogo que nos passa a jogar (Gadamer 1999). Brian
Sutton-Smith (2001) diz-nos que o nonsense, a jocosidade (playful), o espírito brincalhão,
é o mais profundo caráter do temperamento do jogo. Ele é o resultado do uso de um
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
14
conjunto de procedimentos interpretativos. Apropria-se de uma organização de
categorias do senso comum e atravessando essa organização através de procedimentos
de reversão ou de inversão, muda as fronteiras dessas categorias, repete-as até ao
infinito, até à exaustão, conjugando-as no tempo, ou fraturando-as nos seus membros,
recombinando-os de acordo com algum princípio, reinventando as lógicas (Stewart
1989: 199). Como tática que é, o nonsense é uma ação calculada que não tem por lugar
senão o do outro, há uma ausência de um próprio e, por isso, “deve jogar com o terreno
que lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma força estranha” (Certeau 1998: 100).
13 O nonsense confronta os procedimentos do senso comum e funciona questionando,
criticando, subvertendo-o para criar mundos outros possíveis. Elizabeth Sewell (2015: 1)
diz que o nonsense não depende da aceitação ou rejeição de certos factos, mas sim da
adoção de um certo conjunto ou tipo de relações mentais. É definido como uma coleção
de palavras ou eventos que, em seu arranjo, não encaixam num sistema mental
reconhecido (ibidem). Então, nonsense é mimese-jogo. Quando o nonsense constitui o
temperamento do jogo (como na improvisação e experimentação artística, ou na vida
quando enfrentamos novos desafios), há uma descentralização das lógicas de
relacionamento e de encontro. Na arte, estará relacionado com a reinvenção dos
procedimentos artísticos, pelo menos, dos modos de improvisação. O nonsense é um
transgressor e constitui-se a si próprio enquanto profanação (Agamben 2007). Como
sugere Agamben, o jogo neutraliza o que profana e devolve ao uso comum o que o
poder havia confiscado (ibidem: 77).
14 Para jogar o AND é preciso disponibilidade para sair do “modo operativo É”, aquele que
governa o senso comum, e de todos os seus dispositivos reguladores do comportamento
que definem a interpretação, a representação, o imperativo do significado, como dizes.
Por outro lado, é sempre sobre o acontecimento que interrompe o nosso nexo a que
chamas de “acidente”, esse “outro” sob o qual o jogador toma a sua posição na relação,
definindo-se a sua atenção ao longo do acontecimento mas desprendida das lógicas do
“Modo Operativo É”. Pergunto se essa não será uma regra fundamental do jogo AND,
senão mesmo a regra do jogo para que aconteça esse “murmúrio de acidente-e-
improviso, tentativa e erro, que vai sendo a matéria e fazendo a consistência das nossas
relações” (Eugenio 2017: 204), e que permite o jogo funcionar. Se para o jogo fluir é
pressuposto aceitar o acidente, ou a interrupção do que é expectável comumente para
cada um de nós no encontro com os outros jogadores, não será que há um chamamento
ao temperamento do nonsense enquanto atitude que o jogo convoca para fazer perdurar
o MO_AND?
15 FERNANDA – Interessante voltar a formular o AND entrando pela porta do nonsense –
nunca havia pensado nestes termos. De facto, o AND convoca um “espírito brincalhão”,
talvez até em mais de uma valência: pede por disponibilidade e abertura, mas também
por uma prontidão ao desapego, por leveza no deixar-se levar, por uma atitude
simultaneamente de desinteresse interessado e interesse desinteressado. Ativa-se,
assim, enquanto tática de des-autorização – desinvestimento no sujeito-autor e
transferência do protagonismo para o acontecimento – e des(a)propriação –
desinvestimento no agir em “causa própria” em prol do fazer-com aquilo que se
apresenta, abrindo espaço para um funcionamento por co-passionamento (Eugenio
2017), em sintonia com o impróprio e o alheio.
16 A sensibilidade ao acidente, que funciona como condição de possibilidade para a
ativação do Modo Operativo AND, não é outra coisa senão uma capacidade infinitesimal
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
15
de deteção de fissuras no sentido: momentos em que este é interrompido ou suspenso,
negado na sua eternidade e inteireza, seja pela súbita colisão com um sentido outro,
seja pela intromissão em vislumbre do imponderável, do informulável, do impensável.
De modo que se poderia mesmo dizer o acidente como materialização concreta do
nonsense – a sua aparição enquanto consistência que se impõe à coerência. E, levando
mais além este pensar-com o conceito do nonsense, se poderia experimentar ainda re-
dizer o jogo proposto no AND – jogo de sustentação do não-saber – enquanto exercício
de sustentação deliberada do nonsense.
17 Mas talvez seja então preciso, a esta altura, clarificar o que estamos a entender por
sense. Pois o AND propõe um compromisso com o desviar do sentido enquanto
significado – um adiar o mais possível do fechamento que este inevitavelmente
instaura: passamos então a saber, emerge o enquadramento apaziguador, a vida se re-
insere no domínio domesticado do (bom-)senso – mas o faz ativando um outro sentido
do sentido: o sentido enquanto direção. Jogar o jogo, no AND, não é negar o sentido,
mas negar um sentido do sentido, exercitando uma abertura para que a sua
estruturação se possa dar a partir de outro repertório. No lugar do significado (e da
representação, e da intenção), experimentar (n)a faixa de frequência em que o sentido
se manifesta como tendência, inclinação. O chamamento é para uma brincadeira, sim,
mas séria e rigorosa, estritamente geográfica, um exercício de rastreamento descritivo
(Latour 2005): a de seguir de perto em perto o acontecimento conforme ele se
(des)dobra, verificando, a cada jogada (co-posicionamento), para onde ele tende, se
inclina e se dirige, ou como ele se re-posiciona, perfazendo aos poucos uma paisagem
toda feita de relevos emergentes.
18 Visto desta perspetiva, o jogo AND estaria a propor, então, o habitar do nonsense – ou,
mais precisamente, de um não ao sentido (não ao significado, à relevância, à coerência)
– através do performar de um sentido outro (aquele da direção, do relevo e da
consistência). No AND começa-se pela irrupção do nonsense, mas somente se pode
continuar pelo encontro de um sentido por onde seguir, uma direção comum. O não ao
sentido é inaugural, mas não definitivo. Arriscaria re-propor, assim, que talvez haja
mais performance de dis-senso que de não-senso na ética desse jogo, uma vez que
mesmo o não ao sentido é provisório, é um adiamento: adiar o fim, porque “vivemos
juntos enquanto adiamos o fim” (Eugenio e Fiadeiro 2012). Funciona, assim, sobretudo
como recurso para que se possam encontrar regras imanentes, chegando ao sentido ao
invés de partir dele.
19 Ocorre-me uma hipótese: haverá (já) uma operação de jogo entre a emergência do
nonsense – a aparição do acidente – e a sua transformação em não (provisório) ao
sentido. Mais ou menos o mesmo movimento que faz do acidente, acidente – tal como
formula Deleuze n’ A Lógica da Sensação (Deleuze 2007): o acidente precisa de ser
percebido como tal – acolhido, notado, reparado – para terminar de acontecer, para
tornar-se o que já era, emergindo enquanto campo de potência para contornar o cliché.
Assim, embora o nonsense seja literalmente fundamental para disparar o jogo AND –
funda a possibilidade de ativar a vida como jogo, e abre, por decorrência, a hipótese do
E – penso que o faça, a princípio, sobretudo enquanto rasgo (brecha, vislumbre, insight)
e não enquanto regra. A sua aparição funciona como uma chave de portal para uma
dimensão paralela – a do “como se”. Sinaliza a possibilidade da profanação tal como
proposta por Agamben, como sugeres. Sinaliza a possibilidade de ativar uma operação
de des-transcedentalização, de devolução ao plano do uso, da talvez emergência de uma
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
16
geo-ética, ética de experimentação incessante e situada de táticas oblíquas – tal como o
ritornelo, segundo Deleuze e Guattari (1980). Mas, sendo uma condição para abrir essa
possibilidade, a sensibilidade ao nonsense não chega, da minha perspetiva, a ter a
estrutura condicionante da regra, pois por si só não pode assegurar que o jogo que se
instalara a seguir será AND. Diria, por isso, que encarna uma das condições do jogo – a
da awareness –, precisando de se combinar com mais duas condições – a da
equanimidade e a da suficiência – para conformar o campo no qual o AND se passa (ou
não) a cada vez.
20 O jogo com o nonsense – tal como o jogo desencadeado, segundo a conhecida formulação
de Vilem Flusser, pela poesia – “aumenta o território do pensável, mas não diminui o
território do impensável” (Bernardo 2011: 19). Tende a operar, portanto, por
proliferação e espalhamento horizontal, e não por colonização, conquista,
sedimentação e progressiva domesticação do impensável – como o faz o jogo por
excelência do Sentido, aquele que configura e reitera o Modo Operativo É da
cosmovisão ocidental moderna. Já só por este movimento há de se reconhecer o campo
de potência que instaura: aquele da liminaridade, da possibilidade de brincar com os
limites e ilimites das coisas, de questionar a univocidade do sentido, ampliando-a. Mas
há aqui também um risco: o da banalização por excesso, o da instauração de um jogo de
“tanto faz”, tão arbitrário quanto o sentido unívoco que se acabara de questionar, agora
apenas pluralizado num OU, OU, OU. Talvez seja esta a vocação mais imediata do
nonsense, e a tendência para a qual escorre: vir a reduzir-se a uma mera pluralização do
É, ao eventualmente instalar a própria ambiguidade como modo de vida.
21 Será talvez por isso que, para adentrar no território do AND, importe trabalhar
intensivamente para que a potência de proliferação sinalizada pelo acidente/nonsense
se dê por multiplicação, não por pluralização, efetuando antes uma sensibilidade à
ambivalência das coisas que uma vida assente ambiguidade, o que seria incompatível
com o instalar da confiança, liga da reciprocidade. Importa, então, fazer a passagem do
nonsense, que emerge com(o) acidente, ao não ao sentido, ou seja, sobretudo um
retroceder da ideia, do já sabido. Uma oportunidade para não começar pelo sentido,
mas pelo insosso da não-ideia, tal como a formula Jullien (2000): simples e desarmada
sensibilidade à multiplicidade de valências presentes em cada encontro, sem ainda
saber, sem ainda querer, sem ainda preferir. Tomar, então, posição-com esta matéria –
a da ambivalência –, performando suficientemente uma das valências a cada vez: não
todas ao mesmo tempo, o que tenderia a gerar fragmentação; não qualquer uma ou a
que se quiser, mas justo aquela, materialização da des-cisão equânime. Começar assim,
aos poucos, a tomar um sentido: arrumar, tomar rumo, seguindo o fio em espiral de um
sentido-direção comum.
22 Ou seja, parece-me que há um potencial de sabedoria que se abre no encontro com o
nonsense, mas que também se pode esvair se se faz dele matéria de entretenimento,
profusão aleatória, descompromisso – usando o vocabulário AND, tender-se-ia aí a
utilizá-lo como terreno para a ativação de um Modo Operativo OU, frequentemente
confundido com o E – por trabalharem, ambos, com a matéria da (re)abertura do
sentido –, mas completamente diverso, já que instaura o relativismo, não a relatividade.
O AND, por sua vez, propõe-se num plano de reinvenção do entretenimento enquanto
cuidado, pesquisando formas de performá-lo como um entre-ter: um termo-nos uns aos
outros, sustentando-nos reciprocamente, eis o modo como se formula aqui o problema
do “como viver do juntos” (Barthes 2003). Para tornar isso possível é de facto preciso
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
17
ter regras, como bem sinalizas na tua questão, pois para haver encontro é preciso haver
território, e são as regras que delimitam e perfazem um território. Mas para tornar isso
possível é também preciso não as ter, ou pelo menos não as ter à partida, senão serão
elas a nos terem a nós, e a confiscarem o próprio potencial de performatividade do
encontro.
23 A nossa relação com as regras funciona a maior parte das vezes dentro de um Modo
Operativo É, mais do que de um Modo Operativo AND. Ou seja, as regras pré-existem às
relações, prescrevem as condutas e fornecem um quadro de valores mais ou menos fixo
que sentencia de antemão o que pode um e cada corpo. As regras respondem, não
perguntam. E estão mesmo desenhadas para, preferencialmente, inibir a emergência de
perguntas. Regras assim produzem uma sensação de falta permanente e insuperável,
uma vez que fixam modelos médios e abstratos para a ação, perante os quais cada
pessoa, enquanto agregado singular, parece já começar qualquer plano de relação “em
dívida” para com um “deve ser” em relação ao qual se está sempre aquém ou além.
Perante este tipo de organização da vida, que pré-legisla sobre os corpos, os afetos, os
encontros e as potências antes que se manifestem, temos apenas a escolha binária do
obedecer ou do desobedecer, do acatar ou do contestar – sendo que ambas estas
supostas “escolhas”, não só não o são, por já estarem previstas no próprio script da
regra, como tendem a corroborar, mesmo que pretendam o contrário, para um
esquema reiterativo, que reproduz e perpetua as estruturas de poder – que vai,
inclusive, anexando os territórios de contestação passados como alíneas do previsível. E
isto porque quase todas as nossas regras sociais se organizam de modo transcendente.
São sentenças fechadas, apoiadas em critérios implícitos, que quase sempre não são
feitas por aqueles que nelas estão implicados. Ainda quando isto se dá, vez por outra –
quando certas lutas sociais logram a conquista de um direito, por exemplo – este não se
torna regra sem cumprir o mesmo percurso de se transcendentalizar e, por
consequência, se generalizar, e passar a prescrever. Legislar não é cuidar. E não se ativa
o cuidar meramente contestando as regras, ambiguando-as por pluralização. O cuidado
envolve criar as condições para a emergência de regras, não como palavras de ordem,
mas como comprometimento situado: espirais de frequentação regular de um mesmo
problema, que se inscrevem sem prescrever, recorrem sem remontar, pois logram se
manter abertas e serem refeitas a cada vez, num constante ajustar ao uso que se faz
delas e às circunstâncias singulares que vão emergindo da participação coletiva. Regras
imanentes emanam das condições oferecidas por um problema partilhado, e de um
trabalho duro e dissensual de enunciação, através do qual se vai delimitando um
território provisório com-possível, sem o qual o “juntos” não se passa. Elas enunciam o
próprio território comum, mas o fazem enquanto pergunta e não enquanto resposta.
Regras transcendentes, ao contrário, são rijas e coercitivas; são respostas prontas às
quais passamos a dever – no duplo sentido da palavra.
As funções do MO_AND
24 RICARDO – É interessante pensar a operatividade do nonsense como ativador ou gatilho
de regras imanentes que vislumbram o comum enquanto pergunta. Cria-se um
território provisório de dis-senso onde se abrem portas para além das lógicas do senso
e, portanto, vive-se o espaço da liminaridade que resultará numa tomada de posição
fora dessa lógica. Ao fazer da regra uma brecha ou insight, talvez o nonsense seja uma
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
18
meta-regra que cria as condições para as regras transcendentes (prescritivas e
reguladoras das lógicas dominantes) não se fixarem no jogo. Terão, como dizes, de
nascer regras imanentes e provisórias, enquanto comprometimento situado, aquelas
que você refere resultarem da emergência de um plano comum consistente do encontro
entre os jogadores. Para evitar que se propague no jogo o vírus do MO_AND ou a lógica
do OU e do É, é igualmente importante saber claramente quais os objetivos do
MO_AND? Podemos dizer que o objetivo é o treino das práticas da atenção para a
produção de comuns situados (porque somos feitos de outro e é na relação in situ que a
vida se faz)?
25 FERNANDA: Sim, parece-me justo. O recurso à “engenhoca performativa” do jogo
prende-se ao propósito de que a investigação possa ser experiencial, relacional, situada,
coletiva e inclusiva, i.e. acessível para qualquer interessado. Todos os exercícios
dedicam-se à afinação da escuta e da presença com uma sensibilidade ao político; ao
treino das capacidades de distribuir e (re)situar a atenção como vias para o
engajamento no comum. Talvez se possa dizer que o objetivo/compromisso desta
prática seja, em suma, assegurar que investigar o comum não seja diferente de viver o
comum: tanto porque se coletiviza o próprio ato de pesquisar (todos os implicados no
problema do “juntos” são também os implicados na sua investigação), quanto porque se
o torna parte contemporânea do viver (pesquisa-se o “juntos” enquanto também se o
negoceia, performa e constitui). Por um lado, trata-se de transversalizar e
“reciprocizar” o gesto investigativo, procurando modos de eliminar concretamente
uma diferença (mais para descompasso hierárquico) que tende a ser recorrente nas
investigações, apesar de tudo o que já se disse e se discutiu sobre o assunto: aquela
entre pesquisador e pesquisado, sujeito e objeto, antropólogo e nativo (Viveiros de
Castro 2002). Por outro, trata-se de um esforço por fazer (com os) conceitos, explorar a
sua performatividade, testar a sua pertinência no plano do uso e a partir de uma
abordagem que os experimenta enquanto ferramentas – algo que serve para fazer-com,
não apenas para falar-sobre. Um esforço por dar a ver, através de uma prática no/com
o terreno e o corpo, a distância que frequentemente persiste entre o posicionamento
teórico-discursivo e aquilo que se performa-pratica no (e como) mundo, para, quem
sabe, encontrar maneiras de a colmatar, fazendo co-incidir em ato o pensar e o fazer.
26 Não ousaria dizer que se trata de um objetivo, mas nisso tudo há o desejo de contribuir,
mesmo que numa escala ínfima, para ativar anticorpos contra as formas hegemónicas
da subjetividade, apoiadas numa lógica de privilégios e desprivilégios implícitos; de
consumo e descarte; de avidez insaciável e volúvel; de um excesso desmedido e
inconsequente, entretanto gerador de uma contraditória sensação de falta permanente;
de um auto-centramento competitivo paradoxalmente orientado por modelos prontos e
sempre externos ao sujeito. Neste sentido, o MO_AND deseja-se enquanto prática que
permita sintonizar com outras formas de vida para além daquela, predominante nas
sociedades capitalistas. Trata-se, claro, de um construtivismo permanente, sabedor da
elevada improbabilidade senão de êxitos microscópicos e contingentes. Mas estes
operam-se. Nestes cerca de quinze anos de investigação, tenho testemunhado que o
praticar constante do MO_AND produz transformações sensíveis na direção de um
maior descentramento e disponibilização, de uma micro-afinação da atenção, e de uma
sintonização mais imediata e clara com as possibilidades cambiantes do entorno. Por
consequência, vai tomando corpo uma maior habilidade para a gestão autônoma das
ecologias emergentes daquilo que se faz, uma tendência mais constante ao gesto
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
19
consequente e ao comparecimento voluntário no plano do cuidado coletivo, capazes de
dispensar o poder centralizado, a palavra de ordem e o modelo anterior à vivência. Não
me parece haver um outro modo viável para produzir mudança efetiva – em especial
diante das macro-estruturas sociais que privilegiam o comportamento reiterativo – do
que despertar a sensibilidade para o potencial fractal dos pequenos-grandes jogos que
podemos jogar, a cada vez, de perto em perto, nos nossos próprios co-posicionamentos.
A experiência de jogar uma sociedade sem órgãos
27 RICARDO – O MO_AND, em certa medida, operacionaliza uma prática anárquica, no
sentido da possibilidade de convivência sem a autoridade. Podemos até entender o
MO_AND como uma pedagogia radical, na medida em que surge como uma
oportunidade para superarmos a experiência de estar pseudo-juntos (como nas redes
sociais tendemos a estar – por falar nisso, nunca pensaste um app para o MO_AND?).
Este trabalho de sensibilização e fractalização da atenção, como dizes, distrai-se das
intencionalidades do EU através da co-operação. O alinhamento dos corpos e dos afetos
parece evidenciar uma atitude zen, na medida em que facilmente se está pronto a
abandonar os estímulos teimosos do pensamento para entrar em fluxo com o processo
de re-paragem com o outro, nesse comum que se vai fazendo. Como dizes (pegando na
analogia anglo-saxónica de forgive e for give; forget e for get), é preciso desapegar
(perdoar para dar) e desaprender (esquecer para ter, ao invés de ser), em ordem a
“receber” (Eugénio 2017: 209) e entrar no metálogo – que resgatas de Bateson (1987)
para sentir-pensar-fazer junto (Eugénio 2017: 209).
28 Gostaria ainda de conduzir a lupa para o contato daquilo que referes como uma
sabedoria da liminaridade. Nesta propensão que o MO_AND tem de ativar a
sensibilidade para outras faixas de frequência para além do modo operativo É, parece
que o jogo elabora as condições para a construção de um corpo sem órgãos. Como nos
sugere Deleuze e Guattari (1980), a partir de Artaud, a construção de um corpo sem
órgãos necessita da destruição de um organismo. É um corpo de desejo mas contra o
organismo. O organismo supõe uma organização dos órgãos que forma um obstáculo à
intensificação da energia livre (como o modo operativo É, ou derivação em OU). Por
isso, é um corpo que visa destruir o organismo e formar um corpo de sensação,
resultado da transformação do corpo empírico (Gil 2008). A este nível imagino que para
jogar seja necessário alguma dose de prudência.
29 Neste jogar ao undercommons, de nos incompletarmo-nos uns aos outros, jogo de
contaminação recíproca em que se investiga na prática o que podemos ou não juntos
(Eugénio 2017: 208), há uma recusa em formular o commoning por pressuposição. Por
outro lado, podemos aqui igualmente ver uma tática de resistência à força
deglutinadora do capitalismo, sempre pronto para absorver potenciais commons, ou
comuns, como forma de os mercantilizar. Não será, então, o MO_AND a possibilidade de
imaginar coletivamente e de modo situado uma espécie de sociedade sem órgãos?
30 FERNANDA – Uma sociedade sem órgãos! Esta formulação soa muito interessante. Sim,
parece-me que o AND, no seu esforço por tornar acessível à escala humana a
fractalidade infinitesimal e a vibratilidade relacional que não param de constituir(-se) e
reconstituir-(se) (n)os corpos, revela-os sensivelmente enquanto sociedades – cada
posição é já multidão, cada um é muitos. O jogo com diversas escalas e materialidades
permite acessar enquanto experiência direta aquilo que já sabemos talvez por
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
20
abstração: que não há diferença (senão de recorte fractal) entre indivíduo e sociedade –
e reciprocamente. Quantidades – num sentido quântico – estão a ser distribuídas e
redistribuídas a cada encontro, e os agregados a que chamamos Um ou Todo(s) são
resultantes parciais, contingentes, deste fazer e ser feito recíproco, in-terminável (sem
fim e sem nome). A anarquia talvez seja, tão-somente, este tornar visível e sensível –
esta desobviação ao nível da vivência – de um socius explicitamente tardiano: feito da
“posse recíproca, de modos infinitamente variados, de todos por cada um” (Tarde
2003). Um juntos espraiado-disseminado, movente-relacional, provisório e nunca pré-
existente à relação, ou menos ainda encompassador. Um comum transversal, que se faz
por atravessamento e não por contorno. Jogar a esta “desorganização”, confirmá-la,
verificar que dela é feita aquilo a que chamamos “vida social” – não havendo vida que
não o seja, afinal – opera a anarquia não porque a reivindique, mas porque a reconhece
enquanto operatividade inevitável, contínua e ilimitada, que já e ainda lá está, e da qual
a hierarquia é apenas um caso particular e excecional (inevitavelmente temporário,
ainda que perversamente possa durar todo o nosso tempo biográfico) – do mesmo modo
que, como costuma dizer o Eduardo (Viveiros de Castro com.pess.), “a identidade não
passa de um caso particular da diferença”. Cada um destes conceitos-entitários,
portanto, apanha num estado circunstancial e o prende para apreender, produzindo um
efeito de estabilidade, de anterioridade, de verdade. A partir daí, passa a ser anárquico
reconhecer, de novo e de novo, na experiência, que este efeito diz mais sobre o
instrumento coletor e a política que o anima – no limite, uma necropolítica, como a
enuncia Mbembe (2018) – do que sobre a matéria do vivido.
31 Criar espaços para experimentar sair da política entitária-fragmentária; para ensaiar e
afinar uma capacidade de desfragmentação: isto é anárquico sob a condição de ser
também e simultaneamente zen, uma vez que jogar performativamente a anarquia não
desorganiza a sociedade sem junto desorganizar o indivíduo, na sua forma egóica
predominante. Eis a operacionalização que te lembraste de citar, a do desapego e do
desaprendizado: uma certa “menorização do Eu” (Deleuze 2010) vai emergindo como
consequência inevitável desse testemunhar – assistir sem espectar – da impermanência
das coisas.
32 Nos jogos matéricos exercitados no AND, a combinação do recurso à experiência direta
e da convocação de uma modulação filigranar da atenção está, justamente, a serviço de
dar corpo e visibilidade à impermanência do ente-fragmento, a permitir que se
experimente a sua textura relacional e com-positiva, que se possa assim devolver
sensibilidade ao seu caráter de agregado – ou ainda, constante e gerúndio agregando e
dobradura. “Envelopamento” (Latour 2008) que, conquanto inevitável e necessário para
operar concretamente qualquer acontecimento, jamais diz tudo, nem definitivamente,
nem (ainda menos) substitutivamente ao próprio acontecimento.
33 Sair do fragmento e do discreto: do pensamento eficiente, que não pára de abordar o
mundo para sistematicamente classificá-lo, enquadrá-lo, qualificá-lo, tirar dele o
melhor proveito ou lucro. Despistar esta operação tão entranhada – a da racionalização,
que parece dar as cartas de tudo o que a princípio conseguimos distinguir a olho nu –
ou, a bem dizer, a “olho vestido” (muito bem vestido, afinal, com a cosmovisão
moderna, com a conceção durkheimiana da sociedade, etc. e tal – até as roupagens mais
contemporâneas, como a da “pós-verdade” ou a da “alta performance”, por exemplo) –
é o que talvez possa uma prática constante de descondicionamento da perceção. Uma
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
21
que a sintonize com a escala da fractalidade, na qual se pode acompanhar o “ir sendo”
(e não o “começar por ser”) das coisas-pessoas-lugares.
34 Não raro, nesse aspeto, as práticas do AND são aproximadas e comparadas, por
praticantes de diferentes procedências, à meditação de insight. O que se compara será
talvez a sensibilidade operacionalizável através de ambas essas práticas, a despeito da
sua imensa diferença em termos formais. Será talvez a sua ética, pois a sensibilidade à
fractalidade das coisas, ou o treino de uma capacidade de desfragmentação, vai
constituindo justo uma ética de suficiência. De fato, em tempos de elogio do excesso,
será não apenas zen, mas anárquico, professar a suficiência!
35 Mas se trata, como antevês, de um jogo arriscado que demanda muita prudência. Jogar
ao suficiente, sim, mas apenas suficientemente. Trata-se de um cuidado – talvez o mais
importante – que se vai tornando mais e mais fundamental conforme essa pesquisa vai
sendo sustentada na duração, e consiste em não permitir que o jogo se feche sobre si
mesmo, levando-se demasiado a sério, acreditando de um modo totalizador em si
próprio. Isso seria recair no fragmento e, no limite, fazer do E um É.
O MO_AND e o método etnográfico
36 RICARDO – Tenho uma questão final que diz respeito ao momento fundador do
MO_AND e ao seu futuro, às suas aplicações. Podemos dizer que a génese do MO_AND
está no âmago do trabalho etnográfico antropológico, isto é, da vivência de encontros
em determinado contexto como forma de observação participante. Este é o foco tanto
do MO_AND como da etnografia. Num momento em que assistimos à contaminação do
método etnográfico com outras metodologias artísticas, peço que nos contes como é
que o MO_AND emerge do trabalho etnográfico – dás-lhes vários nomes: etnografia
recíproca, performativa ou como performance situada (Duenha et al. 2016: 114) – mas
não encontrei em lado algum o tipo de experiências de campo que estiveste envolvida
para parar no encontro como acidente. Refiro-me aos contextos em que praticavas
estes exercícios da atenção que vieram a dar o AND. Por outro lado, para finalizar,
gostaria ainda que referisses as aplicações que tens experimentado com o MO_AND. Ele
vem da etnografia. Sai, de alguma forma, do seu escopo, e o seu uso entra nas
metodologias de improvisação e composição das artes da performance. E agora parece
estar a ser devolvido à esfera das etnografias experimentais que estão a ser usadas por
vários campos disciplinares.
37 FERNANDA – Como fui parar no encontro como acidente? Olhando em retrospeto,
tendo a reconhecer que o acidente é que veio ter comigo; ele é que veio cá parar! A
inquietação dada por um imponderável que acaba por se fazer encontro impôs-se desde
o primeiro campo mais denso que realizei, durante o mestrado, entre 2000 e 2001.
Escolhi pesquisar a experiência do trauma e da reformulação de si com pessoas que
tivessem perdido a visão já adultas, mas durante a frequentação quotidiana de um
centro de reabilitação no Rio de Janeiro, vi-me seguidamente impedida de encontrá-las
diretamente, pelo próprio funcionamento da instituição, que impunha sempre um
mediador autorizado como guia e “tradutor” daquela experiência. Como se, ao
perderem a visão, fosse também dada por perdida a sua capacidade de falar por si. Essa
situação levou-me já na altura, em esboço, a entrever um Modo Operativo É a funcionar.
E foi através de um acidente que, afinal, abriu-se a brecha para tocar – neste caso
mesmo literalmente – a questão que moveria a minha pesquisa. Um atraso do diretor do
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
22
centro de reabilitação, com quem teria uma reunião para autorizar a continuidade do
campo, levou a sua secretária a sugerir, para passar o tempo enquanto o esperava, que
eu fosse assistir a uma atividade da escola que também funcionava na mesma
instituição. Vieram ter comigo várias crianças e em minutos deu-se o encontro não-
mediado que havia buscado por meses. Transferi a pesquisa para o setor da
“alfabetização especial” e lá se foi: emergiu uma pesquisa das imbricações entre
corporeidade, aprendizado de si e do entorno, autonomia e letramento com crianças
portadoras de diversas gradações de invisualidade que, afinal, me escolheu a mim
(Eugenio 2002). Nesta altura o meu então orientador, Luiz Fernando Dias Duarte
(com.pess.), sintetizou a força deste acidente sugerindo-me explorar a máxima de que a
etnografia “dá certo mesmo quando dá errado”.
38 Foi o que fiz, e parte da escrita ocupou-se de extrair as consequências deste episódio
para descrever um tipo de sensibilidade investigativa que se inaugura com o acidente, a
etnografia. Demorar no acidente, aceitando para isso mudar de questão, envolvia não
empurrar rápido demais, como de solito, uma matéria como esta ao espaço da anedota
– aquela que é contada geralmente nas introduções, servindo para alimentar a
narrativa romanceada sobre as aventuras do antropólogo em campo, e a seguir deixada
de lado quando o trabalho dito sério – “interpretar o outro” – se inicia.
39 Esse esforço descritivo dos procedimentos sensíveis da etnografia – e que começavam a
enunciá-la como um jogo entre o desencontro e o encontro, no qual tanto o território,
quanto os agentes, quanto (e sobretudo) a questão a ser tratada, estavam por emergir
de uma colisão inesperada e do compromisso por seguir com ela, desdobrá-la e ficar a
saber, se calhar, só no fim – foi desdobrado na sequência durante os anos em que me
tornei professora de uma disciplina introdutória à antropologia, dada a alunos de
graduação. Desviando da ementa sugerida, estritamente teórica, considerei que não
havia outro modo de “ensinar” antropologia que não fosse através do convite a
performá-la. A jogar com as suas ferramentas, entrando no domínio de uma
sensibilidade particular – sensibilidade a esta colisão que estaria sempre na iminência
de acontecer, carregando-nos por contágio sintónico com o alheio, e assim abrindo
possibilidade para a invenção de uma reciprocidade. Nestes anos surgiu a primeira
proposição da etnografia como jogo, que envolvia duas fases: a primeira consistia em
contornar a tentação de “escolher um tema” e abrir espaço para “ser encontrado pela
questão”; a segunda, em procurar sistematicamente, ao escrever-viver a experiência,
deslocar o relato da tendencial esfera do “porque” para a esfera do “como”.
40 A formulação do AND (na altura dito “modo de vida E”) veio entretanto somente
durante o campo do doutoramento (2002-2005), e mais uma vez através de uma
sequência de acidentes que me foram encontrando e, ao mesmo tempo,
circunscrevendo o campo de inquietação da pesquisa, que acabou por se tratar dos
relacionamentos erótico-afetivos e de amizade vividos no circuito daquela que, na
altura, era chamada de “cena eletrónica carioca” (Eugenio 2006). Nesta pesquisa, tanto
território como agentes eram difusos, disseminados, fugidios se se os tentava agarrar
com os conceitos prediletos da antropologia – cultura ou identidade. Eram modos de
explorar o que podem os corpos, juntos em quase todo e qualquer arranjo, que
apareciam no cruzamento imprevisível e a cada vez re-situado de várias linhas de força
(uma certa relação com a música, com o uso de substâncias sintéticas, com as
tecnologias digitais, com a moda, com espaços urbanos intervalares, com o mundo do
trabalho, etc.), não sendo nunca suficientemente descritos por nenhuma delas em
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
23
particular – e que, reciprocamente, co-participavam também no desenho em
movimento de cada uma dessas linhas de força. Os anos de pesquisa co-incidiram com o
espaço-tempo dos anos em que, no Brasil e em particular no Rio de Janeiro, as táticas
daquilo a que eu viria a chamar de des-cisão (o desfazer da cisão moderna)
concentravam-se numa fuga ao nome, justo na “curva da espiral” imediatamente
anterior à atual (e correspondente, pois será o mesmo E, apenas com outra direção),
cuja tendência é, agora, à implosão do nome por multiplicação, pela operação “trans”,
chegando talvez a nomear até o sem nome, a borda e o fora de campo, como o não-
binarismo de gênero (ou o não-não-binarismo!), a tensão assexualidade/
panssexualidade, ou ainda, de outro modo, a tensão entre a monogamia e o poliamor e
entre este e o anarquismo relacional.
41 Essa pesquisa não parou de sofrer acidentes até aceitar instalar-se no próprio problema
de nunca saber do que estava a tratar, restando então quase que apenas o seu exercício
enquanto continuado (re)performar do encontro, inevitavelmente etnográfico e auto-
etnográfico: em relação, rastrear o refazer das relações entre as relações. Eis a primeira
formulação explícita do E/AND. A sustentação de um estado de fervura in-terminável
rendeu uma reformulação – e um agravamento radical assumido a partir de então – da
máxima que me havia sido sugerida anos antes no mestrado: já não se tratava de uma
etnografia que “dá certo até mesmo quando dá errado”, mas de uma etnografia – como
então me foi re-proposto pelo orientador do doutoramento, Eduardo Viveiros de Castro
(com.pess.) – que “só dá certo se der errado”. Trazendo esta memória para o presente
desta conversa, parece-me que este é um enunciado suficiente e preciso da sabedoria da
liminaridade!
42 Assumir esta errância do sentido – o nonsense, lá está – como condição disparadora de
uma etnografia recíproca levou-me (a este ponto, já sem pretensão alguma de saber por
antecipação no que isso iria dar) a reatar a relação com o campo da dança e da
performance apenas findo o doutoramento, em 2006. Precisava – e aí encontrei essa
possibilidade – de experimentar o que podia esta etnografia que tinha tomado corpo de
corpo; precisava de experimentar com outras interfaces que não a do texto, e
sobretudo, precisava de experimentar esta etnografia como um fazer radicalmente
coletivo: no limite, inventar o próprio campo, nunca diretamente, mas como
consequência de ir inventando aqueles com quem se vai encontrando, e ir se deixando
inventar por eles, fazendo dos conceitos, ferramentas (daqueles que resistissem à
experiência vivida, e daqueles dela emergentes). Precisava de me demorar (e
eventualmente, de jamais sair) do estado de encontro performativo-etnográfico,
fortalecendo modos de fazer “consistência” para desviar do imperativo da coerência no
qual se deve construir o diagnóstico analítico-interpretativo. Estas experimentações
começaram por trabalhar com a materialidade da rua e do caminhar, já que era de
errância à escala do corpo que se tratava. O jogo da passagem do “porque” ao “como”,
que havia criado na relação com os meus alunos de graduação, se foi desdobrando em
todo um sistema para a cartografia em movimento das relações a partir das
coordenadas interrogativas situadas que-como-quando-onde, que até hoje estão
presentes no AND.
43 Esta foi a Etnografia como Performance Situada, que de certo modo operou a passagem
entre a formulação inicial do AND ainda no âmbito da antropologia académica e uma
sua primeira derivação para o campo da performance. Deu um uso dirigido às errâncias
urbanas que comecei a fazer ainda entre 2004 e 2005, no doutoramento, na altura como
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
24
tática de rastreamento daquele desenho territorial instável, em circuito sempre
cambiante. A partir de 2006, acrescentou-se a este procedimento um uso deliberado da
circunscrição etnográfica na operacionalização de proposições artísticas situadas, num
esforço de deslocamento da sensibilidade e do fazer etnográficos para um plano de uso
comum e coletivo, abordando-os como instrumentos para o jogo de com-posição
relacional em escala humana e para a performance ao vivo do encontro. Funcionava (e
ainda funciona; agora esta investigação continua sob a forma de uma das linhas de
investigação do AND Lab) assim: a partir da instalação de uma zona comum de atenção
num território da cidade, trabalhava com diferentes cortes fractais de matéria urbana,
mapeando os funcionamentos urbanos emergentes das relações entre geografia,
arquitetura, uso e habitação, inventariando as brechas e os encaixes propiciados (ou
não) pelas gradações público-privado e próximo-distante, e pelas variadas relações-
tensão entre o coexistir e o conviver. Através desta prática, ia extraindo da própria
materialidade do quotidiano os nexos relacionais, as questões e as interfaces a serem
manuseados a seguir na construção de jogos, proposições e performances do/no lugar.
44 Neste período, comecei a dar aulas em cursos técnicos de dança, sem deixar os meus
alunos da graduação em Ciências Sociais. Além disso, também a colaboração com o
artista contextual Gustavo Ciríaco (iniciada em 2007 e continuada até hoje nos projetos
Práticas Site-Specific e City Labs) foi importante para dar forma ao percurso que se ia
construindo. Esses dois espaços de encontro tornaram explícita uma crescente
necessidade/vontade de partilha de procedimentos e estimularam a sistematização da
pesquisa sob a forma de caixa de ferramentas: um conjunto de proposições percetivas
para experimentar (com) o lugar, explorando os recursos simples do andar e do parar
num convite à demora etnográfica enquanto Reparagem – via de investigação da
performatividade já manifesta na vida quotidiana – e, a seguir, no trabalho com a
matéria emergente a partir do Reprograma – jogo no qual o percorrer recursivo dos
Mapas do Quê-Como-Quando-Onde leva, por derivação e consequência, a uma
proposição situada, sintetizada numa única frase-força ou força-tarefa, a ser vivida e,
então, consecutivamente reprogramada, num compromisso continuado de afinação
com o lugar e o que já lá havia, em latência, para a performance do encontro.
45 Mais adiante, em 2009, emergiu a colaboração com o João Fiadeiro e o seu método da
Composição em Tempo Real, que acabou por me trazer a Portugal. Entre 2011 e 2012
organizamos o AND Lab sob a forma de um projeto de etnografia recíproca dos nossos
procedimentos. Em paralelo, foram dois anos em que, através de um pós-doutoramento
no ICS/UL (Eugenio 2010), formalizei o AND já muito próximo da forma atual. Durante
os anos dessa colaboração, que se estendeu até 2013 (Eugenio e Fiadeiro 2012, 2013), a
Etnografia como Performance Situada acabou por assumir o nome Modo Operativo
AND, ao qual se incorporaram também exercícios de improvisação em estúdio que
inventamos juntos, como a escala do tabuleiro, com a qual hoje em dia costumo
começar a partilha – que depois percorre diferentes escalas até ser “devolvida” ao
plano de uma aplicação na vida quotidiana. Com todas as variações, interlocuções e
bem-vindos encontros-acidentes com pessoas e lugares, a estrutura de base dessa longa
investigação é, entretanto, mais ou menos a mesma desde o início, envolvendo as zonas
da Reparagem (Deambulação e Paragem) e do Reprograma (Trabalho de Mapas,
Circunscrição, Enunciação e Imaginação). Nos anos a seguir, e até ao presente, o AND
Lab passou de projeto a lugar – foi formalizado como plataforma de pesquisa e como
associação cultural, mais ou menos ao mesmo tempo em que o Modo Operativo AND foi
assumindo a sua dimensão ético-política forte e o seu compromisso com a reparação
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
25
diante do Irreparável que é o mundo. De 2014-15 em diante – e este será talvez o maior
dos acidentes, nunca o teria imaginado! – o MO_AND se foi tornando mais e mais
transversal, sendo adotado por investigadores das mais diversas áreas para pensar e
praticar o comum. Além da dança, do teatro, da performance e das artes visuais, que
foram os primeiros encontros na derivação para fora da academia, surgiram
colaborações ou pesquisas autónomas (pessoas a fazer mestrados e doutoramentos, ou
projetos de intervenção e aplicação, em diferentes países) com áreas tão diversas
quanto pedagogia, mediação cultural, serviço social, arquitetura e urbanismo,
psicologia transdisciplinar e até mesmo informática, no âmbito da qual – e para
responder à pergunta que me fizeste de passagem na questão anterior – efetivamente
foi criado, por um estudante de mestrado na área de Interação Humano-Computador,
um And App, atualmente em fase de testes. Resumidamente, aí está um pouco do
percurso de como se foi gestando – e agora espalhando – este jogo de sensibilização ao
acidente que é o AND.
Conclusão
46 FERNANDA – Porque é que o AND é um jogo?
47 RICARDO – As tuas respostas em cima justificam já o AND como jogo, e um jogo que se
deve até jogar na vida. Falas na sua estrutura, explicas as várias fases do seu
desenvolvimento e a experiência desse jogar, abordando inclusive a sua política. Para
finalizar, eu diria apenas que o modo operativo AND é um jogo dionisíaco que Apollo
gostaria de assistir.
BIBLIOGRAFIA
Agamben, Giorgio. 2007. Profanations. New York: Zone Books.
Barthes, Roland. 2003. Como viver junto. Simulações romanescas de alguns espaços cotidianos. Cursos e
seminários no Collège de France 1976-1977. Texto estabelecido, anotado e apresentado por Claude
Coste. São Paulo: Martas Fontes.
Bateson, Gregory. 1987. Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry,
Evolution, and Epistemology. Northvale, New Jersey, London: Jason Aronson Inc.
Bernardo, Gustavo. 2011. “Dois menos um pedacinho.” Pp. 7-19 em A Dúvida, Vilém Flusser. São
Paulo: Anna Blume.
Certeau, Michel de. 1998 (1990). A Invenção do Cotidiano. Petrópolis: Editora Vozes.
Deleuze, Gilles. 2007. Francis Bacon: Lógica da Sensação. Rio de Janeiro: J. Zahar.
_____. 2010. “Um manifesto de menos”. Pp. 25-64 em Sobre o teatro: Um Manifesto Menos. Rio de
Janeiro: Zahar.
Deleuze, Gilles; Guattari, Felix. 1980. Milles plateaux. Paris: Minuit.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
26
Duenha, Milene Lopes; Fernanda Eugenio and Ana Dinger. 2016. “Entre-modos. Um jogo de re-
perguntas à volta do Modo Operativo AND.” Urdimento Revista de Artes Cênicas, 2 (27) (Dezembro):
96-123.
Eugenio, Fernanda. 2002. Crianças Cegas. Uma etnografia das classes de alfabetização do Instituto
Benjamin Constant. Dissertação de mestrado. Orientação: Luiz Fernando Dias Duarte. Rio de
Janeiro: PPGAS, Museu Nacional.
_____. 2006. Hedonismo Competente. Antropologia de urbanos afetos. Tese de doutoramento.
Orientação: Eduardo Viveiros de Castro. Rio de Janeiro: PPGAS, Museu Nacional.
_____. 2010. Manifesto AND. Um outro mundo possível, a secalharidade. (Das relações entre a Etnografia
Recíproca e a Filosofia do Acontecimento). Projeto (Pós-Doutorado) – Instituto de Ciências Sociais,
Universidade de Lisboa.
_____. 2012. “O encontro é uma ferida”. Lisboa: Ghost Editores.
_____. 2017. “Por uma política do co-passionamento: comunidade e corporeidade no Modo
Operativo AND”. Fractal, Revista de Psicologia, 29 (2): 203-210.
_____. 2018. “Para uma situ-ação do Modo Operativo AND”. And Doc, Acervo Digital do AND Lab.
Disponível em https://www.and-lab.org/para-uma-situ-acao-do-mo-and.
Gadamer, Hans-Georg. 1999. “A Ontologia da Obra de Arte e seu Significado Hermenêutico.” Pp.
174-269 em Verdade e Método: Traços Fundamentais de uma Hermenêutica Filosófica, editado por H.
Gadamer. Petropólis, Rio de Janeiro: Editora Vozes.
Gil, José. 2008. O Imperceptível Devir da Imanência: Sobre a Filosofia de Deleuze. Lisboa: Relógio d’Água,
Colecção Filosofia.
Jullien, François. 2000. Um Sábio não tem idéia. São Paulo: Martins Fontes.
Latour, Bruno. 2005. Reassembling the social: an introduction to Actor-Network-Theory. New York:
Oxford University Press.
_____. 2008. “A cautious Prometheus? A few steps towards a philosophy of design (with a special
attention to Peter Sloterdijk) .” Keynote lecture, Seminário Networks of Design. Cornwall.
Disponível em <http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/112-DESIGN-CORNWALL-GB.pdf>.
Mbembe, Achille. 2018. Necropolítica. Biopoder, soberania, política de exceção, política da morte. São
Paulo: N-1 edições.
Sewell, Elizabeth. 2015. The Field of Nonsense. Victoria, London, Dublin: Dalkey Archive Press.
Stewart, Susan A.. 1989. Nonsense: Aspects of Intertextuality in Folklore and Literature. Baltimore,
London: The Johns Hopkins University Press.
Sutton-Smith, Brian. 2001. The Ambiguity of Play. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard
University Press.
Tarde, Gabriel. 2003. Monadologia e Sociologia. Petrópolis: Vozes.
Viveiros de Castro, Eduardo. 2002. “O nativo relativo”. Mana, 8 (1): 113-148.
RESUMOS
O Modo Operativo AND (MO_AND) é um sistema de improvisação e com-posição-com que oferece
um conjunto de instrumentos para o estudo praticado das políticas da convivência e das
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
27
capacidades de auto-observação em ato e de tomada de decisão situada. No MO_AND, o
(contra)dispositivo do jogo não-competitivo é usado como “simulador de acidentes”.
Trabalhando com escalas de menorização/maximização do (in)visível e de redução/ampliação do
espaço e do tempo, o jogo AND permite frequentar a atenção ao comum, a disponibilidade ao
imprevisto e o prazer da comunidade, articulando-se como convite a uma investigação
experiencial dos funcionamentos e (des)dobramentos do Acontecimento – seja no
acompanhamento da sucessão espiralada das suas emergências e esgotamentos, seja através do
manejo direto da sua propagação em regras imanentes e sempre provisórias. Neste ensaio-
conversa, Ricardo Seiça Salgado – a partir da sua investigação sobre os procedimentos e efeitos
do jogo performativo com e na etnografia – e Fernanda Eugenio – que vem desenvolvendo o
MO_AND numa trajetória de contaminação recíproca entre a antropologia e a performance –
experimentam percorrer a paisagem de questões suscitadas por esta investigação, colocando em
perspetiva o seu legado e potência enquanto jogo.
Modus Operandi AND (MO_AND) is a system of improvisation and co-positioning that offers a
series of tools for a practical study of the politics of togetherness and the development of in-act
self-observation and situational position-taking skills. Within MO_AND, the (counter)apparatus
of the non-competitive play is used as a “simulator of accidents”. Working with scales of
menorization/maximization of the (in)visible and of reduction/enlargement of time and space,
the AND game allows to train attention to the common as well as an availability to the
unforeseen and a rejoicing for community. The game works as an invitation for an experiential
investigation of the fold-and-unfold-like functionment of the Event, either through assisting its
spirals of emergence and exhaustion, or through direct handling its propagation in immanent
and always provisional rules. In this essay-conversation, Ricardo Seiça Salgado – based on his
research on the procedures and effects of performative play with(in) ethnography – and
Fernanda Eugenio – who has been developing MO_AND in a trajectory of reciprocal
contamination between anthropology and performance – try to navigate the landscape of issues
raised by this on-going research, putting in perspective its legacy and potency as play/game.
ÍNDICE
Keywords: modus operandi AND, play/game, nonsense, ethnography, commons, ethics of
sufficiency
Palavras-chave: modo operativo AND, jogo, nonsense, etnografia, comum, ética da suficiência
AUTORES
FERNANDA EUGENIO
AND Lab, Rio de Janeiro, Brasil
fe.eugenio@gmail.com
RICARDO SEIÇA SALGADO
CRIA-UMinho, Braga, Portugal
ricardoseica@gmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
28
AND … What’s in a name? AND …
What´s in a game?
Ana Dinger
EDITOR'S NOTE
Date received: 2018-04-06
Date accepted: 2018-09-10
AND … what’s in a name?
[T]he conjunction AND is, neither a union, nor a juxtaposition but the birth of a
stammering, the outline of a broken line which always sets off at right angles, a sort
of active and creative line of flight? AND… AND…AND… (Deleuze and Parnet 2007:
10-11)
1 As the Modus Operandi AND itself suggests, to mark something as a beginning is an
exercise often made in retrospective – even the moment of enunciation follows the
event -, and, therefore, it is not an absolute or fixed point in a linear trajectory. If our
position changes, the relations change.
2 And, even acknowledging that “the beginning and the end are just points” and that one
is always in the middle anyway, “begin[ning] again through the middle” (Deleuze and
Parnet 2007: 39), I will exercise one position and forge one of those possible beginnings
by making it coincide with the emergence of a name.
3 AND, named as such, rose from the encounter of artist and anthropologist Fernanda
Eugenio with choreographer João Fiadeiro (2009), the encounter of certain aspects of
their previous work in a collaborative project that became a non-synthetical unfolding
third, with later influence in their separate paths (from 2013 onwards).
4 The choice for the name AND rested, largely, in the theoretical framework brought by
Fernanda Eugenio’s doctoral thesis, and, particularly, her analysis of different modes of
being in the world (a “mode AND” as an alternative to a “mode IS” or a “mode OR”).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
29
5 The term AND has since been used to refer to three different but interconnected
dimensions:
6 (1) AND_Lab, the research centre;1
7 (2) MO_AND, the modus operandi: an ethical-aesthetical approach, a way of thinking-
doing that runs at the basis of the research held at the centre, an operative mode that
supports and is supported by a glossary of concept-tools (this glossary, in turn,
becoming part of what can be analysed as specific vocabulary - an AND_vocabulary –
that joins together and gives consistency to what can perhaps be called a community of
AND users);2
8 (3) AND_game, the game played according to a set of enabling conditions that
functions, in its instantiations, as manifestation (and locus of application) of the
MO_AND (within the workshop apparatus).3
9 AND is also present in many titles of workshops, courses, other events and neologisms
as a kind of prefix, suffix or other form of affix: AND_extensive, hANDling, stANDing,
week_AND, ANDbodiment, etc.
10 In the previous (now obsolete) configuration of the AND_Lab’s online site, in the years
of Fernanda Eugenio and João Fiadeiro’s collaboration, one could read a summary of
decisive moments that led to its constitution, as well as of its formative years. This
history (or constellation of markers of such history) was, then, divided into two cycles:
11 (1) 2009/2011, the period corresponding to the emergence of the “conditions of
possibility” for the creation of the research centre;
12 (2) 2011/2012, the period corresponding to the pilot phase of the project.
13 Since then, other frames could be attempted to organize the continuation of AND as a
cohesive program:
14 (3) 2012/2013,4 the period still corresponding to the collaboration between Fernanda
Eugenio and João Fiadeiro, continuing to bring together aspects of their previous
works, respectively Ethnography as Situated Performance [Etnografia como
Performance Situada] and Real Time Composition [Composição em Tempo Real];
15 (4) 2014/2015, the period corresponding to the acknowledgment of AND’s singular
trajectory as non-coincident with Real Time Composition and the transition from the
collaborative efforts with João Fiadeiro to a phase focused on the work of Fernanda
Eugenio;
16 (5) 2015 to the present, the period corresponding to the delineation of a reconfigured
program (with new lines of research) and both to the emergence and consolidation of
further relationships and collaborations.
17 It was in the context of a workshop of Real Time Composition, held at the International
Biennial of Ceará (Fortaleza, Brazil), in October 2009, that João Fiadeiro and Fernanda
Eugenio first met. Real Time Composition (abbreviated to r.t.c. or Portuguese c.t.r.) is a
method - improvisation technique and composition tool - devised by João Fiadeiro since
the 1990s. Many other researchers, mainly but not exclusively from the artistic realm,
participated in this long-term research: collaboration is in the fabric of r.t.c. from its
inception, as Fiadeiro himself concedes, by citing the title of one of his works – “O que
eu sou não fui sozinho” (2000) [“What I am I wasn´t alone”]. 5
18 However, it was with Fernanda Eugenio that collaboration took a more structured and
lasting form, in such a way that, at the same time, something else, something other
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
30
than Real Time Composition, was inaugurated. It was demonstrated, by users and its
uses, that AND, as name, as practice, had a separate and quite pulsating life. To
continue to feed that ever-changing life was the decision that led to the constitution of
the non-profit cultural association in 2015 and the re-baptism of the research centre,
now with a different subtitle: AND_Lab, Research Centre for Art-Thinking & Politics of
Togetherness. The AND_Lab has changed its physical address and virtual site (https://
www.and-lab.org).
Figure 1: Position-taking in a game. AND Summer Lab. Condomínio Cultural, São Paulo.
January 2018. © Ana Dinger.
19 What’s in the name, the connective AND, was, nevertheless, already thoroughly
addressed in an early text entitled “Modes of re-existence: Another possible world,
mayhapness”.6 The text, written in the form of a manifesto, has, as its proposition, a
“mode of re-existence”: a third “mode of existence” that relies not on the regime of
“IS” nor on the regime of “OR”, but on the possibility of “AND”. The “AND logic”
contrasts with the “IS logic”, on one hand, and with the “Or logic”, on the other,
because it favours the “encounter” and a openness to “flavour” instead of (pre-
established) “knowledge” – this relation is based on a language-game, by replacing the
“e” of “saber” – knowledge in Portuguese – by “o” of “sabor” – flavour or taste in
Portuguese – in order to emphasize situationality. What is at stake in AND’s approach
is, nevertheless, not an attack or discard of knowledge or ideas. Often misunderstood is
the focus given to the question “How not to have an idea?” This question is drawn in
the wake of François Jullien’s (cf. 2000:13) reflection concerning a wise man having no
ideas simply because he privileges none, he avoids being hostage of an idea, of its
command, of its order, of the peril of a linear direction imposed by a singular first idea
that installs hegemony. The wise man rather wants ideas kept all in the same pale, all
seemingly possibly, equally accessible. What is suggested to the players – to any one
who plays the AND_game or otherwise wants to apply the MO_AND - is to suspend
temporarily what they-think-they-know about things and map what emerges in
relation to an “event”, when interrupted by an “accident”.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
31
20 AND is, then, offered as an alternative to both the regime of “IS” - a regime associated
with modernity and “existence as a scission of entities” – and the regime of “OR” – a
regime associated with postmodernity and “resistance as a changing scission”. The
suggestion made is not to eradicate other regimes but to open up for that third possible
mode of existing/“re-existing” (“re-existing” playing with the word “resisting”).
21 The idiosyncratic operation of the mode “IS” is based on the belief on a clear-cut
separation between subject and object and it works by reproducing that binary
opposition ad infinitum: “truth and fiction, form and content, reason and emotion,
thought and action, body and mind, scientist and artist, artist and spectator, master
and apprentice, etc.” Enabling a feeling of comfort or fake security, the mode “IS” is
easily mistaken for “world itself” instead of being understood as “image of the world”
that it is:
This operating mode [the regime of “is”] – the one of the modern subject in search
of an explanation for the object-reality, or the one of the artist-subject “inventing
reality” for object-spectators – is entirely based upon an entitarian presupposition,
according to which the substance or being (the univocal “is” of each thing, given as
a subject or an object) precede and determine relations. In short, the assumption
that “reality” is an object “of truth”, with functional laws and intrinsic senses, and
the assumption that we ourselves as human beings also have a reason (even if
hidden) to be alive in this “reality”.
22 Summarized in one sentence: “the certainty of existence is designed as a scission, not as
a relation”. This operating regime of existence, the text asserts, has prevailed in
Western modernity. But, from the beginning, competing with yet another working
mode, the one – encompassing counter-discourses - that resists that image of the world
and doubts. A doubt that is systematic and, therefore, substitutes the affirmation of the
“IS” for the “OR” (it can be this, but it can also be that, or that), establishing a
multitude of potential “totalitarisms” – each one with its own opinion - that still rely
on “the same entitarian presupposition according to which the terms of a relation
possess contours that precede it”:
[S]uch discourses rise up against the hierarchical organisation – against the
coagulation of the contents “wrapped up” in each contour: they suggest the
possibility of change – they suggest the symmetrisation of the terms, namely by
making the exchangeability of their contents thinkable. Against the vicious prison
of complementarity, which lulls what we call Modernity in a dogmatic sleep, we
very often imagine, in many spheres of Modernity, a world where the positive “is”
has rather been thought as an oscillating “or”. […] A world where existence is
experimented as “resistance”, but that only makes the disciplined “content-based”
binaries of the modern regime proliferate as a crowd of uncertain certainties.
23 This manoeuver may appear to supress the scission “subject vs object” when, indeed,
dislocates it to another opposition: “subjects vs subjects”. Certainty (being it object,
given fact or reality) is undermined but, in the end, a scission is maintained. Moreover,
if “in the modern complementarity some kind of relation is practiced, as symbiotic as it
may be”, “in the postmodern image of the world” rises a “generalised symmetry” as
result of the “anti-relational acetic face of relativism”. After this diagnosis, it is asked:
But… what if we imagined another possible world? A third sensorial regime, neither
complementary nor symmetric? A world where existing wouldn’t be reproducing or
rebelling, and where resisting wouldn’t consist in the closure of relations? A living
mode where the whole thing wouldn’t amount to certainty or changeover, to the
dream of consensual agreement or to indifferent omission?
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
32
24 This other possible world would be, in the wake of Jacques Rancière, a world of
“dissensus”:
a “fantasy of “ideorhytms” [after Barthes], of community, a “minoritarian-
becoming” [after Deleuze and Guattari] that has circulated and still circulates
‘between’ the two other regimes, activating itself here and there, usually in a
fleeting, bacterial, and invisible way.
25 A world that activates an “ethics of sufficiency”, where one can “distract” oneself long
enough from the “I” (ego), a world “not inaugurated from the point of view of scission”
but, instead, established by “the effort to perpetuate the relation or de-scission”. A
world where the “event” [“evento”] unfolds into a “happening” 7 [“acontecimento”], the
“happening” as prolonged inhabiting of the encounter, the encounter as a shared and
provisional architecture, a weaving of a common plane of action. Not making a decision
in the sense of imposing one’s interpretation or opinion or will but to operate a “de-
scission”, to enter in relation with the “event” in a just manner. “To re-exist in each
encounter, be ‘the consequence and not the cause of the relation’.”
26 Resisting, “if it is not re-existing”, falls prey of the (postmodern) trap of relativism.
Since re-existing entails the effort of prolonging, as long as its elasticity permits, the
duration, the “vital continuity” of the “event”, the 2010 manifesto advocated for
resilience (but resilience might not be enough to face the “irreparable” world in which
we live in, as the most recent unfolding of AND_Lab research is investigating
nowadays).
27 As “we are all (whether we assume that responsibility or not) makers of our own co-
existence”, the way one positions oneself is a transversal problem, “cross[ing] both
artistic practices and life in community”. “[A] research on existence/resistance
understood and experienced as re-existence”, a direction that is followed since 2010,
encompasses a research that is not “an act of ‘situating oneself against’” but of
“situating oneself with”.
28 WITH. AND. What’s in a name? This question points here – and, perhaps, in
Shakespeare’s play already - not to what a name “is”, but more to its “properties-
possibilities” (to use AND’s vocabulary). What relations, what lines of flight does it
entail?
29 When writer Margaret Atwood was asked, in an interview by Rosanna Greenstreet for
The Guardian, about her favourite word, she replied: “And. It is so hopeful.” 8 To use of
the operative tensions in AND’s vocabulary, let us think of hoping less as expecting and
more as an active waiting.
30 AND can be hopeful because of its stammering quality, its zigzag quality: AND can be
the breach to different directions, perhaps unexpected directions. “Neither a union nor
a juxtaposition”, AND is something in-between:
Substitute the AND for IS. A and B. The AND is not even a specific relation or
conjunction, it is that which subtends all relations, the path of all relations, which
makes relations shoot outside their terms and outside the set of their terms, and
outside everything which could be determined as Being, One, or Whole. The AND as
extra-being, inter-being. (Deleuze and Parnet 2007: 57)
31 As a mode of existence/re-existence that coexists and contrasts with the predominant
modes of “IS” and “OR”, AND can perhaps be though as the basis of a style, also in the
deleuzian sense:
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
33
[N]ot a signifying structure nor a reflected organization, nor a spontaneous
inspiration, nor an orchestration, nor a little piece of music. It is an assemblage, an
assemblage of enunciation. A style is managing to stammer in one’s own language.
(…) Not being a stammerer in one’s speech, but being a stammerer of language
itself. Being like a foreigner in one’s own language. Constructing a line of flight.”
(Deleuze and Parnet 2007: 4)
32 Things, people included, are “made up of varied lines” (Deleuze and Parnet 2007: 11), a
“geography” constructed of “rigid” and “supple lines”, as well as “lines of flight”.
Names, as Fernanda Eugenio often says, are shortcuts. All things have proper names,
but instead of designating a person or a subject, the proper name designates an effect,
“something which passes or happens between two [or among more agents or elements]
as though under a potential difference (Deleuze and Parnet 2007: 6). The “multiplicity
that constantly inhabits each thing” is “never in the terms, however may there are, nor
in their set or totality, “multiplicity is only in the AND” (Deleuze and Parnet 2007: 57).
33 AND. What’s in the name? Multiplicity.
AND … what´s in a game?
34 Imagining that the “event” (and concomitantly the game) is inaugurated by a first
position consisting in placing a chair in the middle of a square (that, by common
agreement, is decided to become the shared “zone of attention”): the first thing for a
player is trying to think beyond the attribute-chair, to map what other “properties-
possibilities” reside in that thing that is before us. What does it “have” – what’s in it -
[“o que tem”] beyond what it “is”? Being a chair/something-we-can-seat-in is just one
of those properties-possibilities. It has a colour (brown), it has four legs, it has mostly
one material in its composition (wood), it has a protuberance when one can hang
things, it has/produces a shadow, it has a relation to the square (it is positioned in the
centre), it has letters carved on it, etc., etc., etc. It is a thing with several possible
becomings, including chair, and we can activate that ‘knowledge’ at any time if we feel
it is the “property-possibilty” with more “affordance” in our relation to the event. But
before actually enter in relation, one can map different possibilities/directions, how
those possibilities affect us and which have more “affordance”. Instead of intervening
immediately based on an impulse or what-is-known-already-and-ready-to-use. One can
allow oneself time to make an “inventory” of different possibilities of relation, between
what is given by the “event” – what’s in it – and what one has to “offer”: different
possibilities of “matching/fitting” [encaixe(s)].
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
34
Figure 2: Meta-exercise. AND Summer Lab. Espaço Mova, Rio de Janeiro. January 2018. © Ana
Dinger.
35 To be more accurate, and as enunciated in “The Question Game” (in Secalharidade,
2013, by Fernanda Eugenio and João Fiadeiro, unpaged) this mapping is not primarily
about “listing the ‘properties’ of the environment” nor “points of view” but about
“making an inventory of the ‘properties-possibilties’ of the relation”. Referring back to
the example above, if I notice brown and I choose (by “des-scision”) to relate to brown I
can, for instance, juxtapose another brown thing to the ‘chair’; if I give prominence to
the shadow I can draw its contour and suggest the activation of a shadow-producing-
inscribing game; if I notice the letters inscribed in wood, I can carve a continuation of
the text or I can fill the recesses with a substance of some other colour for emphasis; if I
am affected mostly by the position of the “chair” in the middle I can move it and, by
doing so, suggest a game of dislocating things; and so on… These exercise of somehow
projecting different directions, a kind of “hologramatic” unfolding, is the work of the
players before a position is taken (and, although with slightly different concerns, in the
interval between subsequent positions).
36 The rules of the game emerge from each (instantiation of the) game, they are not
previously given, normative rules. The game is played without speaking, without
explaining actions, unless that is what you wish to perform as your position. Whatever
is not part of position-taken is silent.
37 The exercise, with the MO_AND, is to enter in relation with what emerges, to
investigate how that relation can become “reciprocal”. The event affects me but my
position towards the event (the taking or not-taking of a position) will also affect the
event. What Fernanda Eugenio’s phrase “the encounter is a wound” opens as line of
flight is the possibility for the encounter to become an opportunity, a fissure in the
ordinary, an interruption with serious consequences. The predisposition for “handling
the unpredictable” and for “inhabiting the encounter” can be practiced within the
workshop apparatus and in a larger scale, as ethnographic approach to everyday
circumstances.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
35
38 As stated in the text “The Question Game”, two intertwined concerns comprise the
focus of the MO_AND: “how to live together” and “how not to have an idea”:
Two modulations of the game correspond to two different applicability planes
respectively called ‘tools’ and ‘craft’. On the plane of tools, dedicated to the concern
with “how to live together?”, the game has the rhythm of real time collective
improvisation – it can be played within any everyday event (a conversation, for
instance) or in laboratory practice (an improvisation in a studio, for instance). On
the plane of ‘craft’, which hosts the concern with “how not to have an idea?”, the
game takes the rhythm of a solitary research and the temporality of depuration:
this is the game we play individually every time we work on the execution of a task,
in the accomplishment of a project or the creation of a work in any field of activity.
39 Perhaps it can be said that the first modulation, the one associated with the plane of
“tools” finds its privileged – though not exclusive - site of training in the practice of the
game in what has been previously called a “maquette scale” - understood as “fractal cut
of the world”. The second modulation, associated with the plane of “craft”, entails a
more individual endeavour of “de-scission” - of accessing one’s affects, making the
inventory of potential relations(hips) and “holograming” the unfolding of possible
interventions -, whose transversal applicability is easily graspable. The use of the
distinction between a “maquette scale” and a “human scale” has been revised since. If
any distinction was (and is) used, it is for analytical purposes only, given its
acknowledged artificiality. Nowadays, and, again, for the sake of argument and clarity,
are sometimes used the terms “life-scale” [escala-vida] and “magnifier-scale” [escala-
lupa], emphasizing the continuum of the two scales (cf. Eugenio, Dinger and Duenha
2016).
40 If the “knowledge game”, the game we most commonly play in our everyday lives, is an
“answer game” (either one knows the answer or looks for the answer), AND is a
“flavour” and “question game”:
The activation of this other operating mode happens therefore in the passage from
“knowing why” to “savouring what”: that which is in the environment of the
encounter with the unexpected, which manifests as a window of opportunity to
turn away from expectation, allowing the very event to tell us “what it tastes like”.
In this game it is no longer the situation around that occupies the place of what is
expected; we ourselves get into a “standby mode”. The first (and perhaps the only)
gesture is exactly this one: to stop. Or rather, to “stop-again”: to stop anew there
where the accident irrupts and interrupts us.
41 Once we allow ourselves to harbour the unpredictable – the “accident” - and attempt to
map it instead of project into it biased or pre-established conceptions, then we are
privileging “geography” instead of “history”. Meaning, we are privileging description
over interpretation and explanation. Because by transferring the protagonism to
“what’s-in-there” - the web of potential relations -, only by “implication” and a work
with(in) the in-between can justness be achieved and a “common plane” be found.
42 Knowledge is not to be discarded but to be treated without positive prejudice: just like
others, “a matter that can be savoured and worked on”. To be able to turn the
unpredictable into a “zone of attention” and let the accident unfold into “event” and
“happening” or, in other words, to be able to “use” the accident, one has to “handle the
in-betweeness” and the “not-knowing”. The “gesture” of “stopping-again-and-
noticing” is activated by the suspension of a “quest for answers” replaced by “a
navigation throughout the questions that the here-and-now web of relations has to
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
36
offer”: “In this way, a short pathway to the game as (un)folding spiral may emerge:
What, in what is there? How, with this what? Where-when, with this how?”
43 As seen, the common plane is not pre-existing. It has to be found. A first and second
position in a game will inaugurate a set of relations, as an “invitation”. One of those
relations can become an inclination, with a second position suggesting it. A third
position can activate-it-again, confirming a direction (sometimes it takes more than
three moves to find the game – the emerging rules - but three can be sufficient). Again,
as there are no settled rules, the negotiation and consequent “com-position” is always
situational and deals with “what’s-in-there” (and not with “what-we-wish-it-could-be-
there”) in the “middle”.
44 Each new position introduces amounts of difference in repetition that fuel the living
together. There are many games within the game and shifts of “focus” or “plane” may
be required to sustain the living in common (without it turning into a “tedious
preservation” of less than “consistent togetherness”). Because living together asks for a
constant taking care of. The end of the game will come, whether by “exhaustion or
saturation”. But, after all, the end might be only a new beginning.
45 Relating to the event, taking care of the event, maintaining a common plane, all of
these skills can be considered a craft. With that in mind, I would like to refer to Walter
Benjamin’s section VIII of “The Storyteller” (1999: 91; 2015: 156-7) in which he
diagnoses the fade of an unguarded state of listening correlated with craftsmanship.
Benjamin’s listener, “self-forgetful”, is supposed to (better) be entertained with some
sort of task while “assimilating”. “Assimilation” is a “process” that “takes place in
depth”, that “requires a state of relaxation which is becoming rarer and rarer”. “If
sleep is the apogee of physical relaxation, boredom is the apogee of mental relaxation.
Boredom is the dream bird that hatches the egg of experience”, he continues, in an
aphoristic manner. I’m following here a translation made by Harry Zohn in which
“Langeweile” is translated to “boredom”. However, in a recent edition, João Barrento
translated “Langeweile” to “disponibilidade”, adding in a footnote that he’d rather use
“disponibilidade”, instead of “tédio” [boredom] to avoid the pejorative aspect of the
latter. “Disponibilidade” has no obvious translation to English, not in the sense used by
Barrento. “Disponibilidade” corresponds to a notion of “availability”, especially in the
extent that ‘I’m available’ is used as ‘I have the time’ or, even more so, ‘I will make time
for…’ “Disponibilidade” implies openness, permeability even. It is a sort of ability, in
Barrento’s words, that concerns “the art of knowing how to use time” [“a arte de saber
usar o tempo”] or “the knowing of waiting” [“o saber da espera”]. This knowing is a
knowing-how and, in its own right, craft.
46 The kind of awareness entailed by AND is not akin to relaxation but I think that there
are, nevertheless, some parallels with the sense Barrento gives to “Langeweile”. Both
states, that are, nevertheless, also skills (or abilities that can be trained to become
skills), imply a special use of/relation to time, one that seems to produce time inside
time. Self-forgetness is also required in both, even if in AND that “distraction” means
more appeasing the “I” (ego): distracting oneself long enough from our position as
subjects and of our “I” as a contained self-controlled set of easily discernible principles.
Both seem to rely on a shared experience; a cohabitation; a co-existence that relies on
the duration of an event/happening (produced by everyone involved). None of them
seems to be passive, even if one tends more to absorption and the other to “thinking-
doing” (that can be virtual or actual, always real).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
37
Figure 3: Unfolding of a game. AND Summer School #3. Polo Cultural das Gaivotas, Lisbon.
July 2018. © Ana Dinger.
47 Benjamin ends section VIII of “The Storyteller” (1999:91) with an image, the image of
the web. He also mentions listening and storytelling as belonging to the order of the
“gift”. Reciprocity - giving and receiving and giving back - is the dynamics of the
AND_game (in its several scales and dimensions). Maybe the “weaving and spinning”
that Benjamin longs for also finds a parallel in the weaving of a “common plane”. And
maybe AND is yet another way of ravelling the “unravelled” web of community.
48 By now, it must be quite clear the importance of language in AND and how it is
supported by its own language-games, “using” what certain words “have” – what’s in
words -, to come to a more suitable, precise usage. And all more consistent, if one
thinks of the “elucidative semantic coincidence” Eleonora Fabião (2012: 121) points out
that “in Portuguese, língua means both language and tongue” and this “double
meaning relates word and flesh, writing and muscle, speech and taste”.
49 “Dar palavra ao corpo e dar corpo à palavra, recursivamente” has been one recent
synthesis used by Fernanda Eugenio (2017:205) to address the double-movement effort
of AND as “inhabited philosophy”: “formulation” and “materialization”.
50 In this feedback loop between formulation and materialization, one can find all the
abilities brought about by AND: the abovementioned “availability” (as form of
awareness), “response-ability” (as often used by Erin Manning) and “translatability”.
51 The sequence in which they were enumerated coincides with one possible way of
interconnecting them: one can start to train becoming “available” – to be open, to
produce time within time, to be porous, to allow contamination -; once “available”, one
can train response-ability as both the “justness” – the “sufficiency” and timing - of
one’s responses – returned questions instead of answers – as well as the acceptance of
its consequences; one can train translatability as the movement, that can become more
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
38
and more fluent, between formulation and materialization, among formulations and
among materializations.
52 Ability can be used in this sense of trainable capacity but also as “inscribed” or
“structural possibility that is potentially “at work” even there where it seems factually
not to have occurred” (Weber 2008: 6). This “potentiality”, Weber goes on quoting
Derrida, as “divided or multiplied in advance by its repeatability” (2008: 6).
53 “Dar palavra ao corpo e corpo à palavra, recursivamente”: maybe now I can make an
attempt of translating the sentence. Translated word by word, the sentence becomes
something like “To give word to the body and body to the word, recursively”. One other
– even if still not satisfying - attempt could be: “To give the body ‘wordability’ and to
give words ‘materiability’, in potentially endless repetition (with difference).”
54 Translatability, then, is at the core of AND itself. It is at the core of the constitution of a
vocabulary, it is at the core of the elaboration of concept-tools, it is at the core of the
architecture of exercises.
55 Game, as an investigative tool, is pervasive to the work, not only in the construction of
game apparatuses, strict sense, as laboratory experiments, but also in the production of
a vocabulary and glossary relying on language-games, deconstructive tactics, intra-
linguistic, interlinguistic and intersemiotic translation. Intersemiotic translation is also
the basis for the exercises more focused on the movement materiality-formulation-
materialization.
56 These abilities are trained by practitioners that, even if scattered around the world,
share a vocabulary, among other tools, to gain its consistency as a community: the
AND_people.
57 As Schiller has formulated once, seriousness, only seriousness, is what is reserved for
us without the game. The dimension of the game is not a “limitation”, it is an
“extension”. AND is a very serious game, but is also beyond seriousness.
58 Players aim to be “à altura do acontecimento”, an idiomatic expression that is roughly
translated by “rise to the occasion”. Their interventions aim to neither offer “less nor
more” than what is suitable for the “event” and neither happen “before nor after”, so
that they can respect the “space-time” of autonomy of each position. This is a work
of “precision” and “readiness”. Of response-ability. For each “act of actualization” that
can contribute to the “collective invention of a world”. That could be, then, the “art of
being implicated in the continuous flux of designing a community” (Eugenio 2011).
59 This world is as much a work as it is an unwork. This is where one can bring to
discussion the “inoperative community” of Jean-Luc Nancy. Because, in a sense, the
community put forward by AND produces without production, achieves without
completion. Because “sharing is always incomplete, or it is beyond completion and
incompletion” (Nancy 1991: 35):
[A]t every instant singular beings share their limits, share each other on their
limits. They escape the relationships of society (“mother” and “son”, “author” and
“reader”, “public figure” and “private figure”, “producer” and “consumer”), but
they are in community, and are unworked. (Nancy 1991: 44)
60 Community is not the same as society, it is, perhaps, what “happens to us in wake of
society” (Nancy). Community may irrupt, but the conditions for this irruption can,
again, perhaps, be un-worked by the reiterated exercise of stopping, stopping again,
noticing and caring, being affected and affecting.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
39
61 This un-work will not be “about the other” or “about myself”, it will be beyond subjects
and objects (continually suspended, continually rearticulated), it will be “about the
relationship” and it will be collective.
62 Maybe this un-working is what allows for an “‘inessential’ commonality, a solidarity
that in no way concerns an essence” (Agamben 1993: 25). Maybe this un-working is
another way of enunciating the formation of a community of “whatever singularity”, a
“community without affirming an identity”, a co-belonging “without any representable
condition of belonging” (Agamben 1993: 93). Maybe this could be one “actualization” of
the “coming community” described by Agamben. In so being, it would threaten the
State:
The novelty of the coming politics is that it will no longer be a struggle for the
conquest or control of the State, but a struggle between the State and the non-State
(humanity), and insurmountable disjunction between whatever singularity and the
State organization. (Agamben 2007: 92)
63 The political dimension of AND has been stressed in the description one can find in the
web site, as well as in the rebaptism of the research centre. The term “Togetherness” is
used to translate what more-literally-translated would be “Politics of Living Together”
[Políticas da Convivência]. Politics here should be understood in the wake of Rancière,
as a matter of “dissensus”, as the opposite of police, as stated in the first of his ten
theses on politics:
Politics in not the exercise of power. Politics ought to be defined in its own terms as
a specific mode of action that is enacted by a specific subject and that has its own
proper rationality. It is the political relationship that makes it possible to conceive
of the subject of politics, not the other way around. (Rancière 2010: 27)
64 In one of her recent texts (2017), subtitled “Community and Corporeality in Modus
Operandi AND”, Fernanda Eugenio calls “For a Politics of “Co(m)passionment”. In the
introduction, AND is presented as a proposition to study-practice the means to
rehabilitate compassion as an ethical and political exercise, capable of doing without
the normative gesture of identity/identification and the normative gesture of
compliance. Fernanda Eugenio further asserts that one can train one’s awareness, as a
skill/craft, a reinforced ability of “distributed attention”, because, coeval to the
predominant mode “IS”, the mode AND also emerges, here and there, on the sly: events
are immune to prescriptions or regulations. AND, Eugenio adds, has become a way of
life, an ethical approach, an “ethics of sufficiency”, now reformulated as a way of
bringing a community into being without resorting to any identitary mechanism of
belonging or reproduction (either by direct filiation – “kinship” – or elective affinity –
“friendship”) but using, instead, a mechanism of the impersonal and the common – of
the willing to do, at each time, “strangership” (Eugenio cites Horgan 2012). As an
exercise of “dissensus” instead of consensus, identification is abandoned as “motor of
solidarity”; other modulations of community are explored; community becomes an
experience mainly of collective “desubjectivation” and, therefore, an always open-
process of provisional binding.
65 As Nancy (1991) would put it, the being-in-common is not a common being. But a “vital
link” [liga vital] exists that relies on a “compearance” more than a “bond” (Nancy,
quoted below) – an “empathetic sensibility” that is constantly interwoven and
negotiated. To activate this alternative modulation of community involves attuning
with a common that is neither essential nor substantial but rather potential.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
40
[C]ompearance is of a more originary order than that of the bond. Is does not set
itself up, it does not establish itself, it does not emerge among already given
subjects (objects). It consists in the appearance of the “between” as such: you “and”
I (between us) – a formula in which the “and” does not imply juxtaposition, but
exposition. What is exposed in compearance is the following, an we must learn to
read it in all its possible combinations; “you (are/and/is/entirely other than) I”
(“toi [e(s)t] [tout autre que] moi”). Or again, more simply: “you shares me” (“toi
partage moi”). (Nancy 1991: 29)
66 “Compearance” can also relate, as I see it, with another possible term (part of the AND
vocabulary): “comparência”. This Portuguese word conflates two different meanings of
“to attend”, both to “appear”/“turn up”/“show up” and “to take care of”.
“Comparecer”, then, articulates response-ability and responsibility before the “event”,
before the other singularities (singular beings) that share the common plane. One has
to engage with the in-between of the encounter, again, to make of it “a space of
permanence and inhabitation”. The encounter seems, therefore, to be a privileged site
for the rehearsal of what Irit Rogoff (2006: unpaged) calls “embodied criticality”. In
Rogoff’s words, criticality implies the “recognition that we may be fully armed with
theoretical knowledge, we may be capable of the most sophisticated modes of analysis
but we nevertheless are also living out the very conditions we are trying to analyse and
come to terms with”. And she adds: “the point of any form of critical, theoretical
activity was never resolution but rather heightened awareness and the point of
criticality is not to find an answer but rather to access a different mode of
inhabitation”.
67 Going back to Fernanda Eugenio’s text (2017: 209), “co(m)passionment” asks for “de-
imunnization”: the risk and exposure of “reciprocal contamination”. AND’s
investigation tries out, in practice, what, together, is and isn´t possible – and I think
Eugenio is thinking of Spinoza also for this collective body – “what’s in this body?”;
“what is possible for this body?”. AND, as game, in all its scales, can only be ethical,
ethics consisting in this “practiced and situated study of the immanent possibilities of
composition”. And let me emphasize this part of the text (that I’ve been paraphrasing
and translating from Portuguese): this use allows us to rescue the game apparatus from
the tamed and sterile place it has been more frequently relegated to - as regulated
leisure or entertainment - and find “in it”, “with it”, a space “of” and “for” vital
invention and “re-existence”.
68 The “common has its costs”, Fernanda Eugenio warns us: it is possible but it is not
assured. It takes work: the work – or unwork – of “passing from common to
community”, from potential to position, from position to composition.
69 This is the challenge. This is the invitation.
BIBLIOGRAPHY
Agamben, Giorgio. 1993. The Coming Community. Minneapolis and London: University of
Minnesota Press.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
41
Barthes, Roland. 2013. How to live together. Novelistic Simulations of Some Everyday Spaces. New York:
Columbia University Press
Benjamin, Walter. 1999. “The Storyteller. Reflections on the Works of Nikolai Leskov”. Pp. 83-109.
In Illuminations. Essays and Reflections, edited by Hannah Arendt. New York: Schoken Books.
Benjamin, Walter. 2015. “O contador de histórias”. Pp. 147-178. In Linguagem/Tradução/Literatura
(filosofia, teoria e crítica), edited by João Barrento. Lisboa: Assírio & Alvim.
Deleuze, Gilles and Felix Guatari. 1987. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia.
Minneapolis: University of Minnesota Press.
Deleuze, Gilles and Claire Parnet. 2007. Dialogues II. New York: Columbia University Press.
Eugenio, Fernanda. 2010. Manifesto AND. Um outro mundo possível, a secalharidade. (Das relações entre
a Etnografia Recíproca e a Filosofia do Acontecimento). Post-doctoral project. Instituto de Ciências
Sociais, Universidade de Lisboa.
_______. 2011. “O que a arte tem a ver com o que podem ser as cidades. Dança, viragem
etnográfica e o desenho do comum.” Pp. 62-71. In Bienal Internacional de Dança do Ceará: um
percurso de intensidades. Edited by Primo, Rosa and Thereza Rocha. Fortaleza: Expressão Gráfica e
Editora.
________. 2017. “Por uma política de co-passionamento: comunidade e corporeidade no Modo
Operativo AND”. Fractal. Revista de Psicologia. 29 (2): 203-210. Rio de Janeiro, Brasil: Universidade
Federal Fluminense. ISSN 1984-0292.
Eugenio, Fernanda and João Fiadeiro. 2013. Secalharidade. Lisbon: Ghost Editions.
Eugenio, Fernanda, Ana Dinger and Milene Duenha Lopes. 2016. “Entre-modos. Um jogo de re-
perguntas à volta do Modo Operativo AND. Urdimento 2 (27): 96-123. Florianópolis: UDESC.
Fiadeiro, João. 2017. Composição em Tempo Real. Anatomia de uma decisão. Lisboa: Ghost Editions.
Horgan, Mervyn. 2012. “Strangers and Strangership”. Journal of Intercultural Studies 3 (6): 607-622.
Jullien, François. 2000. Um sábio não tem idéia. São Paulo: Martins Fontes.
Manning, Erin. 2007. Politics of Touch. Sense, Movement, Sovereignty. Minneapolis and London:
University of Minnesota Press.
Nancy, Jean-Luc. 1991. The Inoperative Community. Minneapolis and Oxford: University of
Minnesota Press.
Rancière, Jacques. 2010. Dissensus: On Politics and Aesthetics. London and New York: Continuum.
Rogoff, Irit. 2006. “Smuggling – An Embodied Criticality”. Retrieved June 1, 2015 (http://
transform.eipcp.net/transversal/0806/rogoff1/en).
Schiller, Friedrich. 1989. A Educação Estética do Homem numa série de cartas. São Paulo: Iluminuras.
Weber, Samuel. 2008. Benjamin’s –abilities. Cambridge, MA and London: Harvard University Press.
NOTES
1. From December 2015, AND has also gained a legal frame, as non-profit cultural association.
Due to bureaucratic constrains, the name AND_Lab could not be used for the association, though
it has been maintained for the research centre. The legal denomination of the association is
A.N.D._ Art and Research.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
42
2. The glossary, as it was compiled in 2012, comprised thirty entries: Acidente [Accident];
Acontecimento [Happening]; Affordance; Centro [Centre]; Com-posição [Com-position]; Des-cisão [Des-
scission]; Diferença [Difference]; Direcção [Direction]; Evento [Event]; Gamekeeper; Game-player; Isso
[It]; Manuseamento [Handling]; Metálogo [Metalogue]; Ordinário [Ordinary]; Paisagem [Landscape];
Participação [Participation]; Plano [Plane]; Posição [Position]; Qualidade [Quality]; Quantidade
[Quantity]; Reciprocidade [Reciprocity]; Relevo [Relief, as in the realm of geography]; Reparar/Re-
parar [Three modulations of Reparar: (1) repairing as taking care of; (2) noticing or using
attention in a non-hierarchical and distributed way; (3) re-parar as stopping again]; Repetição
[Repetition]; Secalharidade [Mayhapness]; Sinal [Signal]; Standby; Suficiente [Sufficient]; Tempo Real
[Real Time]. Part of this glossary was transcribed and edited by Liliana Coutinho, and made
available online. The scission of paths between Fernanda Eugenio and João Fiadeiro has
reinforced the urge to update it and an upcoming publication is expected by the first quarter of
2019. The re-direction of the research continually asks for the reconsideration, reorganization,
re-questioning and reformulation of these terms (some being discarded, others being added).
3. The MO_AND and the AND_game are here distinguished but in the text The Question Game
(2013), game is used both for the modus operandi and the game (materialization). The modus
operandi is in that text presented as a game, the “game of flavour” and of “questions”, entailing
two “modulations”: “how to live together” and “how not to have an idea”.
4. Although, in 2014, previous commitments still took place in the context of the project
collaboratively designed, the investigation as joined venture had ceased in 2013.
5. Conversation held in March 23, 2015. In his recent publication, “Composição em Tempo Real.
Anatomia de uma decisão.” (2017) [Composition in Real Time. Anatomy of a decision.], João
Fiadeiro identifies four paradigms in his trajectory, the first concerning a rupture with the
hierarchical, vertical ways of collaboration in dance, culminating in the creation of the company
RE.AL (1990); the second relating to the emergence of composition in real time as a method that
would counteract aspects of contact-improvisation and other improvisation practices that
Fiadeiro felt lacking; the third, the period in which he suspended his work as choreographer in
turn of a more immersive investigation and systematization, collaborating with researchers from
other fields – it is in this period that he locates the collaboration with Fernanda Eugenio -; and
finally, a fourth shift of paradigm, that is a double return – a return to choreography and a
return to contact-improvisation, now realizing the two systems are not necessary mutually
exclusive.
6. The first version of this text dates from 2010 when, drawing from work already begun in her
doctorate, Fernanda Eugenio wrote the project for her post-doctoral research (see reference).
The English version (unpaged) now quoted and paraphrased was translated by Paula Caspão and
was available online in the previous site (no longer active). Mayhappness [Secalharidade] was
also the title given to the lecture-performance presented at Culturgest during the Alkantara
Festival of 2012 and the homonymous publication and serigraphy. What can be considered a
shorter version of the manifesto was written in a band (in an even shorter version reproduced in
the serigraphy), the same band that was later reused, resituated and reframed, when transported
for and during the demonstration of September 15 against the intervention of Troika and
austerity measures.
7. The translation of “acontecimento” to “happening” is of my responsibility and I am not sure if
it is the more suitable translation, even if it works in relation to “mayhapness” (the translation
for “secalharidade” chosen by Fernanda Eugenio and João Fiadeiro). The distinction between
“evento” [event] and “acontecimento” [happening] is, also, a matter of scale. On a micro-scale of
auto-ethnography, the “event” is already (a) “happening”.
8. https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2011/oct/28/margaret-atwood-q-a, retrieved
October, 2011.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
43
ABSTRACTS
This article addresses different dimensions of game in the work of artist and anthropologist
Fernanda Eugenio, specifically the research that has taken the name AND. The connective AND is
used for naming the researched Modus Operandi, the research centre (AND_Lab) and one of the
exercises used for the investigation of ways of living together/ ways of togetherness: the
AND_game. Game, as an investigative tool, is pervasive to the work, not only in the construction
of game apparatuses, strict sense, to experiment both in a laboratory/studio environment and
the experience of everyday life, but also in the production of a vocabulary and glossary relying
on language-games, deconstructive tactics, intra-linguistic, interlinguistic and intersemiotic
translation. Awareness, response-ability and translatability are some of the abilities trained by
the community of practitioners, a group scattered around the world, that shares a vocabulary,
among other tools, to gain its consistency as a community: the AND_people
INDEX
Keywords: modus operandi AND, game, AND_Lab, translatability, community, response-ability
AUTHOR
ANA DINGER
FCH, Lisbon, Portugal /
Research Centre for Communication and Culture (CECC), Lisbon Consortium
dinger.a@gmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
44
“Práticas de Atenção”: Ensaios de
Desterritorialização e Performance
Coreográfica
«Practices of Attention»: Rehearsing Deterritorialization and Choreographic
Performance
Sílvia Pinto Coelho
NOTA DO EDITOR
Recebido em: 2018-04-06
Aceitado em: 2018-08-14
1 Viciados em explicações estamos. Como, então, fazer variar o padrão? Repetindo-o até
falhar? Complicando, não explicando, nem deixando de explicar? 1 Com-plica, no
sentido em que a plica2 nos permita nadar nos sinais, dobrando e desdobrando sentidos.
Plica, de dobra - a mesma palavra “pli”, Le Pli (Deleuze 1988) - e de “plié”, exercício de
musculação na base de devir corpo para o bom equilíbrio, para a ginga e para o salto.
Um gesto implícito pode nunca ser partilhado; se o explicitamos demais pode perder
força, mistério, a sua implicação, o afecto. Simplificando.
2 Para ler imobilizamos a cabeça e para imobilizar a cabeça imobilizamos tudo o resto,
menos os olhos. Para poder ler escrevemos num estado reflexivo, produzimos um
corpo-potência de pensamento sem muita vibração, nem grande deslocação, mas, ainda
assim, com movimento de pensamento, se pensarmos no “movimento total”, tal como o
intuiu José Gil (2001). Em constante afinação entre a dissolução e a vontade de forma,
entre a divisão, a reflexão, a ligação e a “des-cisão” 3, dançamos, escrevemos, falamos a
partir de um movimento nos intervalos entre a hiper-lucidez e a alucinação, intervalos
temporários, metaestáveis, não-intervalos, ligações imperceptíveis. Talvez, a partir de
um movimento de pensamento de dança, na área da invenção de “outras possibilidades
coreográficas”, suficientemente deixadas na incipiência da sua potência máxima,
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
45
tentando não atingir o cristal, nem o esgotamento total. Falamos a partir da
emancipação da reflexão. Falamos a partir da vontade de fusão. 4 Falamos com fusão.
Confusão! Falamos também a partir da emancipação da fusão e a partir dos jogos de
pensamento coreográfico. No fusion no confusion! – disse um dia o coreógrafo Mark
Tompkins,5 que é como quem diz “Sem fusão, não há confusão”. A emancipação da
fusão é uma sem-fusão coreográfica. A emancipação da dissolução, um zoom out para
fora de cena. Supondo que o “coreográfico” se pensa, ou opera tecnologicamente,
supondo que a tecnologia também se pensa, ou opera coreograficamente, teremos
espelho, ou seja, máquina de reflexão? A reflexão implica luz e há luz incluída na
lucidez, uma tomada de consciência a rimar com perda de inocência antes, durante, ou
depois da alucinação. Antes, ou durante, ou depois houve uma procura de dissolução
nas forças da natureza, de poder ser agenciado sem grandes distinções, por exemplo, no
fluxo e uso da gravidade do contacto improvisação.6 Durante uma dança intensa houve
também a procura de cortes que rompessem, ou constrangimentos que decantassem
momentos, a partir do fluxo total, recortes extraídos ao going with the flow. 7
3 “Vamos apresentar isto publicamente, ou continuamos neste prazer imersivo a
descobrir forças gravitacionais e cadências improvisadas que começam a ser
previsíveis?” – Poderá pensar um “contacto-improvisador” a propósito das relações que
vai descobrindo em parelhas ou em grupo. Há que fixar alguma coisa. Reconhece-se a
riqueza do pensamento dançado – mas como traduzi-lo? Como apresentá-lo? Crie-se
uma relação fora/dentro, alguém que veja de fora. Alguém pode entrar e sair e fazer
registos escritos, rastos coreográficos, gravados em vídeo, no estúdio? Alguém que
tenha um sentido crítico. Alguém pode fazê-lo a partir de dentro, em zoom in e zoom out
temporários? Estando dentro, poder imaginar o todo a partir de fora. Estando fora,
projectando-se como mais um performer lá para dentro. Há acontecimentos relevantes
e há a arbitrariedade total, como distinguir? Temos sempre o palco com a sua linha
divisória distinguindo o dentro do fora de cena, mas isso pertence ao campo dos
espectáculos, àquilo que se dá a ver, com local, dia e hora marcados de visibilidade e de
público. Potenciais encontros com variações de potência? Supondo que o coreográfico
se concretiza na individuação técnica do trabalho dentro de um estúdio-máquina-de-
pensamento-coreográfico: uma sala vazia de chão e de paredes regulares,
provavelmente já com uma frente marcada, uma direcção sugerida de apresentação,
uma maquete de palco, talvez com cadeiras, com espelhos ou com uma câmara
apontada. Um pensamento que separa, produzindo um “eu” actor e um “outro”
espectador, por um lado. Por outro, um pensamento que produz vontade de dissolução
numa dança improvisada. Praticar a escolha, poder decidir onde colocar o
protagonismo, no ego, no outro, numa testemunha, num cúmplice, ou no
acontecimento. Assinalar o momento da mudança do centro da atenção ou da mudança
de plano; reparar, tomar posição, escolher com-pôr-com, aceitando o que já acontece.
Terá uma qualquer vontade de dissolução libertado a dança teatral de uma vontade de
forma? Será a vontade de dançar, uma vontade de regresso a uma imersão no meio?
Como se pudéssemos recuperar uma unidade primordial, uma dissolução na natureza
como “todo”, como se pudéssemos voltar a uma qualquer inocência, talvez associada à
visão romântica da verdade como não-separação. Como, então, reparar na relação com
os “aquários” de luzes e de som que tendem a ser as discotecas? Desnortear para voltar
a cair na inocência de não nos vermos de fora e de não sermos observados. De algo, ou
alguém nos levar num rodopio ébrio a dançar.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
46
Pensamento coreográfico
4 O pensamento coreográfico inscreve-se no meio, como uma espécie de cartografia de
relações com diferentes graus de intensidade. Uma territorialização, onde são o
movimento e o tempo, os corpos em relação e as suas forças que produzem durações,
cadências cíclicas, ritmos e ritornelos. No espaço ficam os rastos, os restos dos efeitos das
forças, não só de danças, mas também de coreografias que são hegemónicas nas nossas
vidas, como o imperativo de se sentar, ou de deitar conforme “manda” a ergonomia. O
pensamento coreográfico acompanha a co-locação na duração, a com-posição corpo-
espácio-temporal que envolve atenção e memória perspectivada como re-organizadora
de imagens em actualização constante. Coreografar implica articular relações de várias
ordens, um discurso com desejo de posição, de reflexão, e de imaginação comportando
zonas fora e zonas dentro da atenção, não um discurso escrito em papel, mas
funcionando como um todo reconhecível em zoom out, por um lado. Também
comportando a possibilidade de “fluir na imanência”, 8 por outro.
5 Em Caosmose, um novo paradigma estético, Félix Guattari (1993) propõe que olhemos para
paradigmas ético-estéticos como forma de descondicionar padrões pré-estabelecidos de
subjectivação. Propõe a prática metodológica de desterritorialização para descobrir
outras possibilidades de subjectivação, ou mesmo, para evitar reterritorializações
conservadoras da subjectividade. O exercício de olhar para paradigmas ético-estéticos
como forma de problematizar o pensamento coreográfico entra em relação directa com
algumas práticas de coreógrafos a trabalhar e a leccionar no contexto da dança teatral
contemporânea. À medida que descobrimos na Caosmose de Guattari, uma vontade de
passar de paradigmas cientificistas para paradigmas ético-estéticos, a atenção dada à
ética do pensamento coreográfico redobra. Podemos propor novas relações como
exercício, podemos recolocar em perspectiva o pensamento coreográfico desdobrando-
o, articulando-o com toda a nossa capacidade de compor ou de simplesmente dar
atenção a realidades naturalizadas. Os jogos coreográficos são vistos aqui numa
perspectiva ético-estética. Enquanto práticas de produzir encontros permitem-nos
observar como podem operar, como máquinas de pensar, “máquinas miméticas”, ou de
produzir aquilo que ainda não se conhece: “máquinas poéticas”, máquinas de “fazer
mundo”. Permitem-nos considerar que a ética de trabalho desenvolvida nalguns
processos de pesquisa em laboratório, oficinas, ou workshops coreográficos, é uma
“ginástica” do pensamento crítico e também um exercício de pensamento político
testado dentro dos estúdios e levado para fora deles, enquanto “tónus”, ou mestria da
atenção e da percepção. Como diz Guattari, “Não se pode conceber uma recomposição
colectiva do socius, correlativa a uma re-singularização da subjectividade, a uma nova
forma de conceber a democracia política e económica, respeitando as diferenças
culturais, sem múltiplas revoluções moleculares” (idem: 33). Será destas pequenas
revoluções moleculares da percepção que andamos à procura? Como reparar nas
relações coreográficas que se actualizam constantemente, antes sequer de sugerir
reposicionarmo-nos nos espaços e nos movimentos? Praticando estratégias de relação,
usando práticas de modulação da atenção como exercício de elasticidade das potências
do pensamento?9 “A ênfase já não é colocada sobre o Ser (...), mas sobre a maneira de
ser, a maquinação para criar o existente, as práxis geradoras de heterogeneidade e de
complexidade.” (idem: 139).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
47
6 No contexto de práticas coreográficas concretas, como a Composição em Tempo Real de
João Fiadeiro, o Real Time Composition/Instant Composition de Mark Tompkins, ou os
Tuning Scores de Lisa Nelson – reconhecem-se caminhos que funcionam como maquetes
de relação, ensaios coreopolíticos de emergência de comunidade, de tomada de posição,
de posicionamento e de posicionalidade, envolvendo preceitos éticos e estéticos. Os
jogos de espelhos exponenciam as possibilidades da atenção, permitindo “dar atenção à
atenção”, ou “pensar o pensamento” coreográfico. Surgem vários parâmetros de
relação, de visão, diferentes pontos de vista, noções de enquadramento, papéis
alternados e acumulados na relação entre o centro de uma acção e o observador, entre
uma testemunha e um espectador; papéis de cúmplice, de espectador profissional, de
anfitrião, de convidado, de gamekeeper, de centro e de periferia da acção, que alimentam
uma ideia de “pensamento coreográfico”. Ao observar a migração de algumas
estratégias de trabalho do meio da dança teatral, para o quotidiano, reparamos no
modo elástico e exploratório do pensamento coreográfico, enquanto “máquina de
pensamento coreográfico”.
«Tuning Scores»
7 A coreógrafa americana Lisa Nelson iniciou o seu trabalho na década de 1970, em Nova
Iorque. Dez anos mais nova do que a geração que se notabilizou como Judson Dance
Theatre (1962-64), trabalhou com Steve Paxton e Nancy Stark Smith, entre outros, ainda
no contexto da “dança pós-moderna americana”, que influenciou muitos coreógrafos,
artistas, professores, investigadores e terapeutas. Nelson acompanhou o trabalho de
Paxton e do contacto improvisação muito perto da sua invenção, não só como
participante, mas como observadora crítica e como operadora de câmara e montadora
de vídeos. Esse aspecto confere ao seu discurso uma singularidade especial, pois
consegue colocar-se em campo dançando a presentificação do espaço-tempo, sem
perder a noção de que pode fazer escolhas éticas e estéticas para si e para o “todo”
(para o grupo e para quem vê de fora), com alguma rapidez e sentido de
responsabilidade.10 “Toda a gente acha que sabe o que é ‘improvisação’, mas a palavra
tem uma reputação péssima. Tem uma pré-reputação” (Nelson apud Coelho 2016: 134).
A coreógrafa não considera possível uma dança ser só “improvisação”, há sempre
qualquer coisa de estruturante envolvido, há escolhas. Se estivermos envolvidos num
mar de sinais, há alguns que vemos e outros que ignoramos, há reflexos que inibimos e
outros que escolhemos usar. Se estivermos atentos a todas as condições presentes
poderemos fazer escolhas, o que é muito diferente de servir simplesmente de
canalizador ou de ressonância das condições locais, o que é diferente de não saber, de
ler alto, de ser apenas uma impressão do ambiente que nos rodeia. “Alguma coisa tem
que importar, alguma coisa tem que estar em jogo numa dança” (ibidem). Para Nelson a
relação com a atenção tem uma relevância especial podendo mesmo falar em termos de
“atenciografia”, um termo mais preciso do que “improvisação”. “A atenção nunca pára,
a imaginação nunca pára. É uma consequência da atenção e vice-versa. A emoção nunca
pára” (ibidem).
8 Imaginemo-nos, então, de olhos fechados, a meio de uma cambalhota entre dois, ou três
corpos em movimento. Que possibilidades gera esse acontecimento, nesse exacto
momento? E no momento seguinte? E logo depois? E como recuperar uma sequência de
movimentos anterior, sem atropelar a cena de ninguém? Imaginar o que vê, quem vê de
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
48
fora e se poderá ver o mesmo que eu vejo. Como afinar a atenção para poder partilhar
aquilo que se revelou ser “interessante”? A sequência de escolhas deste tipo, quando
apreendida e praticada regularmente, participa nas características comuns do “tónus” 11
de um bailarino improvisador.12 Para além deste “tónus”, Nelson fez uso de uma câmara
de vídeo e pôde ver de fora estando “dentro”, videogravando pessoas em movimento,
para depois montar esses vídeos, projectando-se para dentro, enquanto via de fora, e
podendo escolher um nexo de movimento para o objecto vídeo, que faria jus à
sequência vivida. Esta experiência integrada de percepção, de atenção e de movimento
permite a Nelson falar da dança como o seu medium de estudo. Uma prática de atenção
que a coreógrafa encara como arte, ou mesmo como uma ciência, um modo de
percepcionar e de organizar o mundo.13 Uma arte de pensar o coreográfico, por
exemplo, a partir do estúdio e das práticas de ensaio em contextos situados com uma
herança do uso de espelhos, com a herança de uma “vontade de forma” hierárquica, de
reflexão, de posterior recusa dos espelhos, de notação em folha de papel branco, o
coreo-gráfico literal.14 Uma arte da procura estratégica dos intervalos entre lucidez e
alucinação, na luz e no escuro, de olhos abertos, ou fechados. Arte da prática e da
afinação dos sentidos, da escuta háptica, óptica, auditiva, cinestésica, proprioceptiva,
da velocidade, da cadência rítmica, da suspensão, da duração e da permanência, do
espaço-tempo dos acontecimentos, onde se fazem escolhas de posição, de com-posição,
de intensidade-vibração e de deslocação. Enfim, uma arte da desterritorialização e da
reterritorialização.
9 Os Tuning Scores de Lisa Nelson são um conjunto de práticas e de modos de abordagem
que permitem gerar parâmetros para que a construção de relações, numa improvisação,
não seja nem completamente arbitrária, nem uma repetição de clichés. Interessante é
perceber que a discussão sobre estes parâmetros, ou sobre os eixos da construção de
nexos, é uma discussão sobre a ética dos procedimentos e sobre a qualidade das
relações já decantada de um grande historial de discussões anteriores sobre
colaborações, mais relacionadas com as tentativas de verdadeiras co-criações – lugares
em que a autoria cede diante da construção de um acontecimento comum – e de
processos artísticos democráticos.15 A estética virá com a escolha, com um modo de
sedimentar preferências cuja consistência, mesmo que incipiente, é partilhável. Isto é,
um plano de composição, um objecto, uma performance recortada no tempo, um estilo.
Quando a prática se torna objecto e não só uma dinâmica de relações, o modo de chegar
a esse plano terá sido um processo de escolhas colectivas sem real controlo do produto
final, a não ser o da ética que alimentou o acontecimento. O proponente do jogo,
quando o contexto é “teatral” – i.e. distingue os participantes no “jogo” de um público
qualquer – poderá assumir-se como “autor”: a pessoa que responde pela coisa que
propõe partilhar, mesmo que a coisa seja construída em tempo real por vários
colaboradores. O maior ou menor grau de indeterminação da máquina que estrutura
uma com-posição partilhável, confere-lhe um risco bastante apelativo de propor e
interessante de acompanhar, enquanto pensamento em actualização, mas que pode
“falhar” redondamente. Essa força, que é também uma fraqueza, confere à
“improvisação” um carácter iminentemente disruptivo e político. Durante uma prática,
numa peça, ou num workshop de dez dias, a experiência de Nelson move-se pelo
“apetite” que é despertado olhando para o movimento, criando explorações com o
corpo-pensamento. Tuning score descreve um estado de persistente sintonização com
aquilo que está a mudar e também com o que está estável em determinado ambiente. Os
tuning scores são micro-explorações, o modo como nos situamos no ambiente,
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
49
constantemente cientes da nossa própria organização e da organização da cena em
geral, ao mesmo tempo que nos organizamos para ver. (Cf. Nelson apud Coelho 2016:
142)
“É difícil ter uma noção original sobre o corpo, porque vivemos dentro dele, ao
mesmo tempo que criamos com ele.” No caso da câmara de vídeo a experiência
original foi aprender algo de novo. Pegar num instrumento como a câmara de vídeo
e começar com a awereness de poder ver o modo como aprendemos. Como funciona
o feedback que activámos ao filmar e depois ver, lembrar e re-experienciar,
observando a sua própria organização? “O modo como me compunha a mim própria
quando segurava a câmara, o que podia recordar disso e para onde era dirigida a
minha atenção pelo som, ou outro dado qualquer. O que é que me movia de um foco
para o outro? Isso foi uma espécie de epifania”. (ibidem).
10 Os tuning scores são sobre o que está no nosso “prato”, continua Nelson, são sobre olhar
e permitem-nos observar os processos de decisão. Por exemplo, alguém entra no espaço
e propõe uma posição/imagem/movimento, como quem coloca algo no nosso prato,
que pode ser afinado, re-direccionado, ou interrompido, no meio de uma acção. A partir
daquilo que se apresenta aos nossos olhos temos desejos que vamos poder observar.
Eventualmente vamos adiá-los, ou activá-los, seja oralmente por intermédio de uma
“chamada” já formulada pelo grupo antes de começar a jogar, ou executando o nosso
desejo como proposta de relação no espaço. As “chamadas” (calls) que surgiram
inicialmente, no grupo de investigadores que desenvolveu a prática com Nelson, abriam
a possibilidade destes poderem observar melhor os seus próprios desejos. Portanto a
“pausa” seria um importante convite para ganhar tempo e reparar nas relações já
presentes, considerar uma série de possibilidades a partir de dentro e a partir de fora,
quando um movimento, ou uma cena já tinha sido iniciada.
O enquadramento do jogo exclui a opção de pedir um movimento específico ao
bailarino. Pedir um “salto” a um bailarino que não está a dançar é como pedir à
galinha no teu prato que seja esparguete. Se alguém tem o desejo de ver saltos tem
o recurso de ele próprio saltar se isso satisfizer a visão de alguém. Ao focarem-se em
operações formais de composição, as chamadas oferecem escolhas aos jogadores em
ambos os lados da acção: Bailarinos e observadores substituem-se ao longo do jogo e
as chamadas são feitas por cada um. Algumas chamadas evoluíram especificamente
de modo a afectar a organização do espaço, do tempo, da qualidade, do ritmo, da
dinâmica, da forma, ou da experiência interior da dança. A maioria delas afecta
tudo em graus diferentes. Embora sejam deixas coreográficas básicas que se
oferecem como ponto de partida, o leque de escolha não é fixo. É suposto terem
origem nos jogadores, à medida que surgem necessidades e são frequentemente
redefinidas pelas suas consequências, ou inventadas espontaneamente em cada
jogo. Tomamos livremente de empréstimo a terminologia da nossa experiência
comum com outros media, de outras disciplinas, ou da vida: scape, ou restart podem
resultar num novo começo; tab (marcar) pode cortar para um próximo futuro; begin
chapter two, ou begin third movement podem iniciar uma nova proposição, etc.
(Nelson apud Coelho 2016: 146)
11 Uma chamada pode ser um convite para pensar naquela possibilidade específica, por
exemplo de “acelerar”, mas nunca é um comando, não é uma ordem. É uma ferramenta
para modelar a acção que pode ser comunicada pela acção em si. Uma vez que a ideia é
fazer algo em comum, logo no início de um jogo pode haver o acordo tácito de tentar
seguir à letra uma ou várias chamadas, de modo a estabilizar a sensação comum de
comunicação naquela comunidade, i.e. para que se perceba melhor um “chão”
partilhado. O jogo permite saborear cada um dos nossos apetites individuais e sentido
de composição, sem necessariamente o activar logo, inibindo o que poderá ser apenas
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
50
uma vontade caprichosa antes de sequer vislumbrar as várias potências a desvelar. À
medida que um tuning score avança, os jogadores sentem que podem arriscar um pouco
mais nas suas respostas, dentro do enquadramento que percepcionam, sem que o risco
de criar mal-entendidos para o grupo seja tão grande. Uma das maiores tentações é
começar a apresentar logo grandes desafios a quem está em “cena”. O proponente de
uma chamada como “reverse” (trabalhem na inversão do movimento que acabaram de
fazer), numa situação em que os movimentos são muito complexos, coloca-se num
ponto em que pode observar-se a si próprio pensando se o convite é relevante, ou se
apenas o faz porque pode. Nesse momento, abre-se a possibilidade de observar
reflexivamente a sua própria vontade de poder, e a vontade de ter poder sobre uma
situação, ou sobre alguém em campo. Uma situação em que podemos observar a
formação dos nossos próprios desejos e tendências sem que um julgamento moral surja
à partida, pode ser bastante reveladora de um conjunto de relações obviadas. Quem está
em campo é sempre livre de aceitar, ou não, aquela “chamada”.
As calls são parte da música do espaço e nós assistimos ao tom e à pontuação da sua
entrega. Tal como ao editar um filme, o tempo exacto de uma call afecta a
musicalidade da dança. Sejam ou não seguidas, as chamadas são uma acção
indelével no espaço e uma parte do todo coreográfico. Os tuning scores são sistemas
de feedback, um modo de obter retorno directo, quase como se a situação tivesse
sido gravada em vídeo e visionada logo de seguida. Um feedback directo dos
observadores para quem está “dentro” e para eles próprios que estão a observar,
sobre a sua própria acção. Permite a cada participante começar a saborear o seu
próprio “sabor” [modo de saborear]. Porque é que querem que algo se repita,
porque é que querem que algo se mantenha, porque é que querem algo para
reverter? Proposições que podem ser só uma simples quietude. Como chegam os
desejos quando olhamos para a dança? Quando olhamos para os seres humanos,
podemos chamar-lhes irritações, desejos, necessidades. E como sobrevivemos ao
nosso próprio olhar? Todos os jogadores, nos tuning scores são ao mesmo tempo
actores e observadores. Portanto criam uma espécie de esfera ocular “dobrada”, não
de facto um dentro e um fora, mas algumas coisas são feitas internamente pelos
bailarinos, sejam decisões conscientes, ou inconscientes. Qualquer coisa no espaço é
visível para alguém. (Nelson apud Coelho 2016: 147)
12 A proposta de colocação de um corpo em movimento no espaço – digamos que é uma
posição16 –, exprime imediatamente uma infinidade de possibilidades de relação com as
relações que se tornam visíveis.17 Jogar usando a ética proposta em tuning scores passa
por primeiro receber a dádiva de quem propõe, ou seja, reparar nela, aceitá-la,
abrandar para observar as relações que convoca, e só depois começar a desenvolver
uma série de hipóteses de relação de contra-dádiva com a proposta em curso e na
presença de todos quantos participam. Esta relação de relações é semelhante ao que
acontece no estudo desenvolvido por João Fiadeiro na Composição em Tempo Real e no
Modo Operativo AND de Fernanda Eugénio e João Fiadeiro (2013). Uma proposta
relevante para estabelecer uma relação de relações confunde-se muitas vezes com
aquilo que à partida nos pareceria demasiado óbvio, pois mesmo que ninguém tenha
pensado naquela posição proposta, o grupo “subscreve”, ou reconhece imediatamente a
sua potência – p.e. usar uma cadeira para sentar. Uma proposta mais estridente, ou
mais desalinhada, pode ser o resultado de não se ter “reparado” 18 na dádiva inicial, ou
nas relações mais relevantes em jogo. É uma proposta que atropela a proposta anterior,
ou que não tem em conta a possibilidade de outras propostas potentes poderem vir a
sustentar e a exponenciar o jogo. Cito João Fiadeiro em paralelo com o trabalho dos
tuning scores tentando evidenciar semelhanças e diferenças:
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
51
Quando o primeiro interveniente age, o resultado da sua acção está ali, de facto. Não
é possível negá-lo. Todos os outros participantes testemunham a sua existência.
Mas o resultado dessa acção é um acto isolado, desligado. Emite sinais (muitas vezes
em sentidos contraditórios) que tornam impossível uma definição exacta dos seus
limites. Por enquanto a posição que tomou o primeiro interveniente (a Posição -1) é
apenas virtual, está à espera da acção do próximo interveniente para se tornar uma
posição actual. É aqui que se manifesta o princípio da retroactividade, um dos
princípios mais importantes do raciocínio proposto por esta prática. (...) (Fiadeiro
2018: 17).
13 A diferença maior entre os Tuning Scores, o Modo Operativo AND e a CTR, nesta fase de
sistematização, é que a primeira posição de um performer que entrou no espaço dos
Tuning Scores pode nunca vir a ser interrompida e por isso pode tornar-se
simultaneamente primeira, segunda e terceira posição, consoante a duração da sua
acção no espaço de visibilidade. Isto é, uma proposta de corpo em movimento no
espaço, seja dançando, ou executando várias acções, pode conter em si tanta variação
que dificilmente lhe poderíamos chamar “uma posição”: algo passível de reconhecer e
de isolar (para eventualmente reproduzir mimeticamente, como imagem). Por vezes, há
propostas demasiadamente implícitas – aquelas em que nem o proponente percebe o
que está propor. O contrário, uma proposta demasiadamente explícita, abre de tal
modo e sublinha tanto a sua intenção que fecha o circuito da dádiva, i.e. completa num
só gesto a dádiva e a contra-dádiva, como quando um gesto contém em si uma proposta
já resolvida, impossibilitando novas entradas. A escala que integra todo o corpo 19 e
torna a sua performance inevitável continua a ser um quebra-cabeças para as tentativas
de sistematização que temos acompanhado, porque acelera inevitavelmente as
hipóteses de reparar em cada relação de relações.
14 A possibilidade de reverter (reverse) o movimento como “chamada”, não estava prevista
inicialmente nos tuning scores, refere Nelson, apareceu depois como “apetite”, no
trabalho com o vídeo, onde fazia rewind e onde podia olhar para a causalidade das
acções e dos movimentos de um modo diferente. Por exemplo, o facto de o sentido que
temos daquilo que acabou de acontecer ser uma construção, uma relação construída
com a memória e com a parte criativa, a estética. “De que é feita a opinião? De onde
tiras a tua estética? Ou como é que se constrói a tua estética? Como é que o corpo está
implicado na tua estética? Como é que vês, o que é que procuras?” (Nelson apud Coelho
2016: 148). Há uma preocupação ética e estética na tomada de posições de Nelson. “De
facto importa-me o que eu penso que é bonito. (...) É de certa forma, anti-Cage também
[refere-se a John Cage]. Tudo o que se passa no mundo e no meio ambiente, é
importante poder dizer ‘isto é feio!’, o que é que eu posso fazer em relação a isso?”
(Idem: 149). A preocupação ético-estética impregnada nas práticas de Nelson resiste a
ser sistematizada num único discurso, algo que se pressente também nas suas práticas
somáticas.
Eu ando a trabalhar num caminho de volta para um lugar mais inocente. Estou à
procura de voltar à dança, ao acto de dançar... Porque sinto que trabalho nesta
espécie de engenharia reversa da composição e de como a composição surge e
tornei-me muito sedentária, mesmo que dentro desta prática... (...) E essa espécie de
fluir não mediado da dança perde-se (Ibidem).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
52
Casa-espelho20
15 Se encararmos um estúdio como uma de “máquina de reflexão”, um laboratório de
ensaiar potências onde se observam “à lupa” determinadas relações, será que podemos
usar o “tónus” de atenção adquirido, noutras situações? Como relata em Before Your Eyes
Seeds of a Dance Practice, Lisa Nelson (2003) parou de dançar aos vinte e quatro anos,
numa fase em que questionava os filtros da sua formação em dança. Foi então que
pegou numa câmara de vídeo portátil, por curiosidade e, durante uma imersão de
quatro anos encontrou o seu caminho de volta para a dança, através dos seus olhos. O
percurso de Nelson levou-a a canalizar toda a atenção para o que via através do óculo
de uma câmara de vídeo: o movimento dos seus colegas a fazerem improvisações e
contacto improvisação. Essa restrição da visão obriga a um treino de localização rápida
do corpo em movimento no espaço, mantendo um foco estável e os olhos sustentando a
horizontalidade do plano. Tal como quem vê, à lupa, traços de acontecimentos – uns
que se actualizam, outros que ficam na sua pré-aceleração, guardados na potência de se
concretizar – tudo o que não se vê intui-se e actualiza-se na periferia da atenção. Filmar
não se trata só de ver, mas também de captar e de escolher o que gravar em fita,
enquadrar e seguir pessoas em movimento para depois montar uma lógica de vídeo de
dança. Fazem-se muitas escolhas como contraponto às escolhas feitas pelos outros
colegas a “dançar-pensar”. Sendo o seu corpo simultaneamente o medium e o produto
da sua performance dançada, Nelson refere no texto citado, que se sentia deslizar de
um lado para o outro do “espelho”. As possibilidades de ver, de considerar fazer, ou
sentir; filmar e montar vídeo colocaram-na nos dois lados do “espelho” em simultâneo,
tornando-a espectadora do seu próprio olhar. Ao permitir-lhe perceber o seu próprio
olhar, o vídeo tornou-se um catalisador da “dança interna de ver no espaço”. E ter-se-á
tornado também num modelo para explorar, com outras pessoas, a forma como damos
significado à dança. A tecnologia coreográfica do espelho está inscrita em nós. Fazemos
uma leitura do espelho, ele faz parte do nosso vocabulário de possibilidades, tal como a
sua “engenharia reversa” fará parte de um reportório. A imagem reflectida
reposiciona-nos.
16 Alice do outro lado do espelho afasta-se das coisas para as ver. Andar no sentido
contrário permite-lhe encontrar a rainha que lhe diz: “Aqui (...) é preciso corrermos o
mais depressa possível para ficarmos no mesmo lugar. Se quiseres chegar a outro sítio,
tens que correr pelo menos ao dobro desta velocidade!” (Carrol 2007: 38). Nesta frase, a
ideia de velocidade e do constante movimento, como tecnologias que na história da
dança terão contribuído para a definição do movimento como seu medium específico,
interpela-nos. Podemos extrair dela a frase “o dobro da velocidade possível” como uma
imagem paradoxal a trabalhar na potência das impossibilidades, a imagem de uma
velocidade máxima para ficar no mesmo lugar, imagens que nos interpelam
coreograficamente como propostas desterritorializadoras funcionando nos limites do
que pode ser imaginado.
17 Para aprofundar a questão “O que é que vemos numa dança?”, Lisa Nelson relata o
modo como deu por si a fazer uma engenharia reversa, tanto da composição do seu
movimento, como da composição daquilo que via.
“A dança interna de ler e de responder ao guião do ambiente será a improvisação
mais básica, corresponde ao diálogo do nosso corpo com a nossa experiência. E
depois fazemos escolhas”. Nelson tem-se surpreendido com as suas próprias
escolhas. Trabalhar com o vídeo mostrou-lhe como espelhar o conteúdo daquilo que
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
53
via era só uma parte da história. Pôde então começar a perceber como movimentos
minuciosos do mecanismo do olho exerciam uma profunda influência na
padronização do movimento do seu corpo. Esta aprendizagem visual e a aplicação
na sua dança começou por não ser intencional, mas logo percebeu a importância de
“alimentar” os olhos. De repente, deu por si a reverter a acção como se pudesse
recuperá-la, ou desfazê-la. “Then as soon as I realized I’d begun to reverse, I was helpless
to keep from reversing back again, caught in an existencial groove”. (Nelson apud Coelho
2016: 108)
18 A acção revelou-lhe o facto de o corpo reconhecer o seu comportamento uma mera
fracção de segundo depois da acção começar. Se ela pudesse recuar a sua percepção
uma outra fracção de segundo poderia vir a reconhecer o momento antes mesmo da
acção irromper. Fez então disso uma prática: redireccionar a modulação, ou a intenção
de uma acção antes dela aparecer, no momento em que a sentia organizar-se no seu
corpo. Esta passou a ser uma técnica pessoal de Nelson para provocar novos padrões de
movimento e estratégias úteis para reposicionar a sua imaginação.
19 Formular modos de não manipular uma improvisação, tentando que o acontecimento
nos escolha, em lugar do contrário, é toda uma “arte” da escuta atenta e do desejo de
produzir um plano comum, de que apenas conseguimos partilhar uma parte, tornando
esse tipo de gestão da improvisação uma espécie de reconhecimento e de manutenção
de um jogo de forças já existente, naquele momento, ou que se apresenta em potência,
caso seja “reparado”. Alguns coreógrafos referem uma ideia de abismo, ou de um afecto
potente que deve ser cuidado, deixado na sombra, mas não abordado directamente,
para não desvirtuar a sua potência.
20 No lugar deixado sem reflexão, a entrega ao acontecimento passa por acreditar.
Acreditar para poder cair, por exemplo, com graça, ou em desgraça. E acreditar
também é uma prática. Diz, novamente, a rainha a Alice – “Quando eu era da tua idade
treinava sempre meia hora por dia. Cheguei a acreditar em, nada mais nada menos, do
que seis coisas impossíveis antes do pequeno almoço” (Carrol 1982: 127, 128). 21 Tal como
as práticas de atenção, as estratégias para acreditar e para duvidar são movimentos
fundamentais no fazer-mundo de coreógrafos-bailarinos, e de coreógrafos-
investigadores. Habitar o limiar do desconhecido pode passar por criar um campo de
forças dependentes de uma espécie de fé, de entrega ritual, ou de repetição e frequência
de intensidades. A força produzida nos jogos coreográficos é real enquanto nela
acreditamos e real quando observamos o seu resultado. Dentro de uma dança, o
acontecimento pode tornar-se experiência alucinogénia. O impossível é “real” e a
experiência ressoa nos corpos que se deixam esgotar e, felizmente, também parar para
poder relembrar. É o coreografar-pensar de alguns pensadores-experimentadores em
laboratórios de intensificação que continuamos a acompanhar, no movimento pendular
entre estar dentro e estar fora de uma dança, de uma coreografia, de um espectáculo,
de um processo de pesquisa artístico, de um processo de pesquisa e de pensamento
coreográfico, ou mesmo de uma etnografia. Como hipótese de jogo de permeabilidade e
de flexibilidade do pensamento, tal como Alice, talvez possamos afastar-nos das coisas
para as encontrar, por um lado, e passar por elas atravessando-as enquanto forças na
velocidade duas vezes maior do que é possível, por outro. Será que iremos parar a outro
lugar, ou esse lugar é mesmo aqui, mas com uma percepção diferente? Será que o outro
lado do espelho é um lugar não cronológico de duração afectiva e de percepção hiper-
atenta? Um vórtice, um abismo, uma queda? Ao imaginar um grande grupo de pessoas a
experimentar “impossíveis” em simultâneo percebemos como tudo se pode fundir num
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
54
movimento simbiótico de grupo a dançar. Não será por isso de estranhar surgirem
frases como – No fusion, no confusion. Ou perceber a necessidade que Lisa Nelson teve de
filmar as improvisações em que toda a gente estava “dentro”. Torna-se impossível de
distinguir, de dividir para ver, no fluxo do contacto improvisação. Não fica tudo só na
memória dos corpos até que alguém filma e alguém escreve. Estamos em constante
vibração e afectação, em constante inter-afectação, sendo esse um dos legados
dispersos da dança, o seu “arquivo” vivo. Daí também o apelo de Nelson para que
escrevamos sobre as nossas experiências e pensamentos de dança.
The studio is a wonderful thing, i’ve seen a lot of better performances in the studio
than on stage. But it is difficult to transfer the same conditions of the studio to do it
on stage. The research is comparable to science research, the problem is we don’t
register what we do. We have to keep writing. (Nelson apud Coelho 2016: 115).
BIBLIOGRAFIA
Carroll, Lewis. 2007. Alice do Outro Lado do Espelho, Lisboa, Relógio D’ Água Editores.
_____. 1982. “Through the Looking Glass”, Lewis Carroll The Complete Illustrated Works. Londres,
Leopard Books Random House.
Coelho, Sílvia Pinto. 2010. O Espinho de Kleist e a Possibilidade de Dançar-Pensar, dissertação de
Mestrado em Cultura Contemporânea e Novas Tecnologias, Lisboa, FCSH-UNL, texto inédito.
(http://run.unl.pt/bitstream/10362/5752/1/O%20Espinho%20de%20Kleist.pdf).
_____. 2012. “Os Tuning Scores de Lisa Nelson” in GO de Lisa Nelson e Scott Smith, Ciclo Improvisações/
Colaborações. Porto. Auditório da Fundação de Serralves.
_____. 2016. Corpo, Imagem e Pensamento Coreográfico. Da Pesquisa Coreográfica Enquanto Discurso: Os
Exemplos de Lisa Nelson, Mark Tompkins, Olga Mesa e João Fiadeiro. Dissertação de Doutoramento em
Comunicação e Artes, Lisboa, FCSH, UNL, texto inédito (https://run.unl.pt/handle/10362/21393).
_____. 2016 b. “Na Casa-Espelho: Propostas de Pensamento Coreográfico”, Cadernos GIPE-CIT
nº36, Processos Criativos: Educação Somática e Afetos. Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em
Contemporaneidade, Imaginário e Teatralidade, Universidade Federal da Baía, Brasil.
Deleuze, Gilles. 1988. Le Pli, Leibniz et le Baroque. Paris, Les Éditions de Minuit.
Eugénio, Fernanda / Fiadeiro, João. 2013. O Jogo das Perguntas. Lisboa, GHOST.
Fiadeiro, João. 2018. Composição em Tempo Real, Anatomia de Uma Decisão. Lisboa, GHOST.
Gil, José. 2001. Movimento Total, o Corpo e a Dança. Lisboa, Relógio D’Água.
Guattari, Félix, 1993, Caosmose, Um Novo Paradigma Estético. Rio de Janeiro, Editora 34.
Lepecki, André. 2006. Exhausting Dance: Performance and the Politics of Movement, Nova Iorque,
Routledge.
_____. 2011. “Coreopolítica e Coreopolícia”, ILHA vol 13, nº1 Jan./Jun.: 41-60.
Miranda, José A. Bragança de. 2008. Corpo e Imagem. Lisboa: Nova Vega.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
55
Nelson, Lisa. 2003. “Before your Eyes, Seeds of a Dance Practice” in Contact Quaterly dance journal, vol.
29 #1, Winter/Spring.
Paxton, Steve. 1987. Fall After Newton, Contact Improvisation 1972-1983, Videoda.
NOTAS
1. Neste artigo ensaia-se um pequeno ritornelo no modo como observamos e falamos sobre
atenção e reflexão. Desde a escrita da tese de doutoramento Corpo, Imagem e Pensamento
Coreográfico (Coelho 2016) que se procura o tom certo para uma “língua” reflexiva na área do
coreográfico, tomando de empréstimo a sugestão de Gilles Deleuze e de Félix Guattari de
descobrir novos ritornelos, novas potências de territorialização e de desterritorialização.
2. “A palavra ‘explicar’ inclui ‘plica’ de dobra e contém o mesmo ‘pli’ implicado na etimologia de
‘complexidade’. Trabalhei com a palavra ‘complicar’ num dos jogos de tradução e de troca de
palavras no contexto do grupo de tradução do baldio – estudos de performance. A partir de
‘complicar’, e consultando alguns dicionários fui desdobrando a palavra que também é ‘parente’
de pli (Le Pli, Deleuze, 1988) e de plié (dobrar os joelhos no vocabulário do ballet). Vou usando
algumas palavras desta etimologia ao longo da escrita como: flexão, reflexão, reflectir, dobrar,
complexificar, simplificar, implícito, implicar e cúmplice. Dicionários consultados: Lopes 2006;
Ferreira 1996; Houaiss 2002; Le Petit Robert 1993”. (Cf. Coelho 2006: 19).
3. Proposta de antónimo de “cisão” formulada por Fernanda Eugénio e João Fiadeiro: “Já
claramente não somos nós ‘quem decide’. Entretanto, como se nos tivéssemos esquecido de
sincronizar os nossos pressupostos à atualização do mundo, permanecemos reféns do decreto que
nos dava a ilusão de decidir. E é aqui que está o nó: não em termos perdido o ‘poder de decisão’
(...), mas em sermos incapazes de tomar uma des-cisão, de revogar o ‘decreto da cisão’” (Eugénio
e Fiadeiro apud Coelho 2016: 18).
4. José Gil cita Steve Paxton, Merce Cunnigham e Vera Mantero, para falar de “imanência”.
“Steve Paxton diz assim: ‘O bailarino tem que ter um máximo de inconsciência consciente para
poder dançar’ (...), ele tem que ter um ponto pelo menos de consciência em que mapeia os seus
movimentos, mas esta consciência não pode ser um campo de consciência, tem que ser um ponto,
tem que ser maximamente inconscientemente consciente. (...) Penso num texto do Cunningham
(...) ele diz assim: ‘o bailarino esforça-se, esforça-se muscularmente, sua, transpira, etc... para
chegar a um ponto de fusão, em que os mais duros metais fundem, (...) e em que não há divisão
entre corpo e espírito, há pura e simplesmente um movimento de êxtase ou de transe (...)’. Bem,
se nós vamos agora procurar definir o que é que se passa nisso a que se chama transe, então
temos uma palavra cara à Vera (Mantero), que é a palavra ‘imanência’ e da imanência não se
pode excluir o pensamento, a imanência aí, é isso, fusão do corpo e do espírito (...)”. (Gil apud
Coelho 2016: 18).
5. A expressão foi usada por Mark Tompkins durante um workshop em Arbecey (2004), para evitar
de antemão que os participantes entrassem num mecanismo fácil de fusão em parelhas e
deixassem de prestar atenção ao todo e ao particular de uma improvisação. “Quanto mais uma
pessoa se mantiver íntegra e só, mais rico será o cruzamento entre as pessoas. No contacto entre
duas pessoas, é difícil desistir da projecção de si no parceiro. Se isso for possível, a dança é mais
interessante. Relaxar a projecção. Deixar de se julgar a si próprio e aos parceiros para chegar a
um lugar mais disponível onde nos permitimos fazer coisas que normalmente não
permitiríamos”. (Tompkins apud Coelho 2016: 18).
6. Steve Paxton no vídeo Fall After Newton, Contact Improvisation 1972-1983, faz uma relação directa
entre o seu trabalho de corpo e as leis da física, citando Isaac Newton (Paxton 1987).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
56
7. A expressão going with the flow deu origem a uma série de equívocos que contribuíram para o
afastamento de Mark Tompkins do contacto improvisação (tanto do ensino da técnica como da
investigação coreográfica por essa via). Numa entrevista de 2007, Tompkins esclarece: “Do
contacto improvisação uma das coisas mais importantes que se retém é estar no momento, agora.
Quanto mais puderes esquecer mais interessante é a performance. Se pensarmos no passado. Se
pensarmos no movimento, já não estamos lá. Pensar sempre now, now, now. Uma tarefa
impossível, but very nice! Quebrar os automatismos do contacto improvisação. Crazy unprepared
real time. Pode ficar muito violento. Hi speed and fast shifts. But the flow at the end drove me crazy”.
Dito de modo a assinalar uma tendência geral dos bailarinos, no contacto improvisação, para
manterem um fluir contínuo que torna todo o acontecimento muito mais linear, consequente e
monótono. (Cf. Coelho 2016: 21).
8. Cf. José Gil (2001).
9. “O Ser é como um aprisionamento que nos torna cegos e insensíveis à riqueza e à multivalência
dos Universos de valor que, entretanto, proliferam sob os nossos olhos. Existe uma escolha ética
em favor da riqueza do possível, uma ética e uma política do virtual que descorporifica,
desterritorializa a contingência da causalidade linear, o peso dos estados de coisas e das
significações que nos assediam.” (Guattari 1993: 42).
10. Já nos anos 1990, Lisa Nelson estabilizou uma abordagem própria, os Tuning Scores, que ensaia
com vários colaboradores e alunos em apresentações públicas e em workshops.
11. Sugiro aqui a possibilidade da existência de um “tónus” da atenção como se fosse um
músculo, convocando “The Mind is a Muscle” de Yvonne Rainer (1966).
12. A sua mestria é adquirida numa série de práticas de atenção específicas, como as citadas,
embora qualquer pessoa accione práticas de atenção e de improvisação, intuitivamente, nos seus
processos de aprendizagem, na apreensão de técnicas, no uso de ferramentas e na especialização
em tarefas.
13. Os depoimentos sobre o trabalho e a biografia de Lisa Nelson são apoiados no meu
testemunho directo, como praticante e aluna em dois dos seus workshops intensivos de dez dias,
como ouvinte das suas palestras, ao vivo e online, como espectadora de alguns dos seus trabalhos
coreográficos e em duas entrevistas que lhe fiz. Todo este material está disponível nas teses de
mestrado e de doutoramento. (Cf. Coelho 2010 e Coelho 2016). Nas mesmas dissertações, parto da
observação participante no terreno de mais três coreógrafos: Mark Tompkins, Olga Mesa e João
Fiadeiro. Este último “terreno” envolve a participação activa da antropóloga Fernanda Eugénio
na conceptualização do discurso sobre o Modo Operativo AND. O trabalho específico de Fiadeiro é
referenciado como Composição em Tempo Real, ou CTR, uma metodologia que desenvolve desde
1995 com vários colaboradores; o trabalho que resultou do encontro entre ambos responde por
AND_Lab (2011-2014), e o trabalho específico de Eugénio é referenciado como Modo Operativo
AND. O trabalho de oficinas de grupo do AND_Lab foi redesenhado e continuado após 2014,
tomando uma orientação voltada para os usos do AND como ferramenta para o posicionamento
ético no quotidiano, e para a troca de procedimentos com investigadores. O nome mudou de
“AND_Lab Investigação Artística e Criatividade Científica” para “AND Lab Arte-Pensamento e
Políticas da Convivência”. Actualmente acompanho ambas as investigações integrando a sua
linguagem no meu próprio discurso. Trata-se da confluência/influência de um movimento de
pensamento que se foi formalizando em comunidade, nos vários grupos formados para a
Composição em Tempo Real e para o Modo Operativo AND, em que participei activamente.
14. André Lepecki faz-nos notar, a propósito das “primeiras representações do corpo, em
Choreographie ou L’art Decrire La Dance, par Caractere, Figures, et Signes Demonstratif de Raoul-Auger
Feulliet, 1699 - no qual a notação de dança representa o corpo em traços de linhas curvas, que
correspondem aos percursos dos bailarinos através do espaço –, que as marcas são cunhadas
enquanto ‘presença do corpo’, ao mesmo tempo que indiciam um hiato filosófico e cinético, entre
o corpo físico e a presença do corpo e é neste hiato que a arte da coreografia poderá tomar lugar.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
57
O início da arte coreográfica como articulação tecnológica da dança com o seu registo, vincula-a
simbolicamente à folha de papel enquanto representação do espaço onde se inscreve o
movimento. Ou seja, há uma identificação directa entre a folha de papel e o estúdio vazio, quando
se pensa em termos coreográficos” (Lepecki apud Coelho 2016: 119).
15. Por exemplo, a propóstio do período em que integrou a companhia de improvisação de Daniel
Nagrin, Nelson refere “a dificuldade de funcionar em colaborações improvisadas sempre que há
um líder, ou sempre que, no formato de improvisação, as trocas não se fazem com base na
igualdade” (Coelho 2012: 5).
16. Fernanda Eugénio e João Fiadeiro, falando do modo operativo AND, dizem sobre uma primeira
posição: “Enquanto que na escala humana dos acontecimentos quotidianos, o ‘enquadrar’ do
evento pela nossa percepção acontece a meio e no meio de qualquer coisa, na escala maquete do
laboratório é necessário esperar pela primeira tomada de posição de um dos ‘jogadores’ para que
o acidente irrompa para os demais. Essa primeira posição inaugura a com-posição colectiva,
através do desdobramento de uma ‘regulação imanente’ e comum” (Eugénio e Fiadeiro 2013: 14).
17. De um modo distinto, mas com algumas semelhanças, João Fiadeiro inclui na CTR um
desdobrar de antecipações de vários futuros possíveis a partir de um só acontecimento. São
possibilidades virtuais geradas pela potência e pela affordance das relações.
18. Digo “reparar” no sentido triplo que lhe deram Eugénio e Fiadeiro: parar duas vezes (parar,
parar novamente), notar, e consertar/cuidar (Eugénio e Fiadeiro 2013: 10, 11).
19. A alternativa à “escala corpo” – a que Lisa Nelson usa e em que todo o corpo está envolvido na
possibilidade de se ir afinando (tuning) com várias relações –, poderá ser a escala “tabuleiro de
jogo”, com vários tamanhos e de onde se pode quase suprimir o gesto do corpo, para observar as
relação de posição e de composição de vários “objectos estáveis” jogados (i.e. corpos com doses
de variação menos perceptíveis). Ambas as escalas são exploradas nos jogos de CTR e de MO_AND.
20. Conceito trabalhado em Coelho 2016, 2016 b).
21. Tradução livre.
RESUMOS
Assinalando alguns processos de composição e de performance coreográfica pretendemos neste
artigo reparar nas práticas de atenção e nos ensaios de desterritorialização e de
reterritorialização que convocam. As práticas e processos coreográficos de artistas como Lisa
Nelson, ou João Fiadeiro são aqui encaradas como práticas que criam as suas próprias regras à
medida que vão sendo jogadas, nunca com princípios competitivos, mas como propostas éticas e
estéticas de constituição do comum. Nestes jogos coreográficos procura-se olhar para o
acontecimento como lugar de encontro e de relações que ultrapassam a ambição estética,
estabelecendo um modo operativo que é uma “máquina” de partilhar performance coreográfica.
This article discusses choreographic performance and composition, bringing to light specific
practices of attention and how these usher in a rehearsal of deterritorialization and
reterritorialization. The choreographic work of artists such as Lisa Nelson or João Fiadeiro is here
framed as forms of practice that generate their own set of rules while being played, shunning
competitiveness in favour of ethico-aesthetical propositions for the creation of the common. In
these choreographic “games” events are understood as sites of encounter and of relations that go
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
58
beyond the field of aesthetics, establishing operative modes that are in fact “machines” for
sharing choreographic performance.
AUTOR
SÍLVIA PINTO COELHO
ICNOVA/FCSH-NOVA, Lisboa, Portugal
silviapintocoelho@gmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
59
In_Trânsito: o Jogo com o Real em
uma Odisseia sobre Trilhos
In_transit: Playing with Reality in an Railway Odyssey
Isabel Penoni e Joana Levi
NOTA DO EDITOR
Recebido em: 2018-04-05
Aceitado em: 2018-07-15
De muitos homens vi as cidades e conheci os
pensamentos.
(Homero)
Fecho os olhos e as imagens não param de passar.
(In_Trânsito)
1 Segundo Schechner (2006), o jogo (do inglês play) seria uma propriedade constitutiva de
toda performance – noção que o autor atribui a uma vasta gama de atividades, que vão
desde o desempenho de papéis sociais na vida cotidiana, até a prática de rituais e
cerimônias religiosas, passando pelos mais variados tipos de entretenimento popular,
pelo esporte e pelas artes da performance. Com efeito, segundo Schechner, toda ação
visível (feita para ser vista) poderia ser analisada “como” performance, mesmo que
apenas algumas sejam socialmente reconhecidas como tal (2006: 38-40). As noções de
ritual (aqui entendido como a tendência mais ou menos comum de “rotinizar” o
comportamento e as ações cotidianas) e de jogo constituem, para o autor, o cerne de
toda performance, definida em seu trabalho pela fórmula: “ritualized behavior conditioned/
permeated by play” (Schechner 2006: 89).
2 Ao lado da abordagem antropológica, multicultural e multidisciplinar de Schechner,
que se popularizou nos países anglo-saxões, estruturando os chamados “estudos da
performance” (performances studies), consolidou-se, em certos países europeus, como na
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
60
França, e também no Canadá, uma abordagem da performance de uma perspectiva
fundamentalmente artística. Posicionando-se criticamente com relação à abordagem
schechneriana, autores vinculados àquela última tendência associam o termo
especificamente ao gênero que emergiu nos Estados Unidos nos anos 1960, em íntima
relação com o contexto das artes plásticas e visuais, popularizado pelo nome de
performance art. Desenvolveu-se a partir dessa perspectiva um vasto campo de estudos
sobre a cena contemporânea, de onde surgiriam as noções de “teatro pós-dramático”
(Lehmann 2007) e de “teatro performativo” (Féral 2008), ambas referindo-se a um
conjunto de práticas cênicas híbridas, inteiramente atravessadas pelos princípios da
performance art, como a ênfase na presença do ator (ou performer) e na ideia de evento
(ou acontecimento), e também o recurso à interatividade, às tecnologias e às mais
variadas mídias.
3 Interessadas no estudo das formas artísticas contemporâneas e numa perspectiva de
análise mais particularista que universalizante, como a de Schechner, iremos discutir
neste artigo um caso particular do que se convencionou chamar de performance site
specific e que também poderia ser associado às noções de “intervenção urbana” e de
“percurso-passeio” (do inglês, promenade performance; do francês, parcours thêatral)
(Pavis 2017). Trata-se de “In_Trânsito – Odisseias Urbanas”, trabalho que estreou em
2013, no Rio de Janeiro (Brasil), e foi dirigido pelas duas autoras deste texto,
envolvendo o conjunto de artistas que integram o grupo teatral carioca Cia Marginal.
Interessa-nos, particularmente, discutir que tipo de jogo este trabalho envolve. Se,
como diz Schechner (2006), citando Bateson, o jogo instaura uma moldura
metacomunicativa que enquadra a performance no domínio do “como se”, sinalizando
tanto para espectadores como para performers que “we are just playing”, veremos como,
no caso de “In_Trânsito”, o que está em jogo é a produção de uma moldura fissurada,
que acaba por criar uma zona de indeterminação entre o que é realidade e o que é
ficção.
O atravessamento pelo “real” na cena contemporânea
4 O jogo entre realidade e ficção vem sendo identificado por uma série de autores como o
denominador comum da cena contemporânea. De fato, de maneira geral, o ator
contemporâneo (ou performer) não é mais aquele que deixa sua identidade do lado de
fora para assumir uma outra quando entra em cena. Ao contrário, é imperativo para
esse ator colocar-se em cena “aqui, agora”, pondo em crise qualquer acordo tácito que o
espectador venha a assumir previamente. Afinal, trata-se exatamente de desestabilizar
ou “irritar” sua percepção (Fischer-Lichte 2007), que oscila entre a crença e a descrença
numa zona de dúvida e incerteza “onde não se sabe mais onde começa o teatro e onde
acaba a realidade” (Protokoll apud Leite).
5 Experimentos cênicos que jogam com a presença do ator “aqui, agora” vem, cada vez
mais, desafiando a ideia de representação, por praticarem uma espécie de “utopia da
proximidade” (Cornago 2008), que alguns autores atribuem a uma necessidade do
artista contemporâneo de abertura para a alteridade, ou a “um desejo de ação frente ao
outro e à intenção de recuperar a possibilidade do social em termos menores, não mais
de militância política, mas de ética relacional” (Fernandes apud Cornago 2007: 07-08).
São trabalhos onde se observa o que Lehmann (2007) generalizou como a “irrupção do
real” em cena, ou ainda o que Féral (2008) chamaria de uma contaminação radical entre
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
61
procedimentos da teatralidade e da performatividade – traço que não só marca hoje o
campo do teatro, mas também o das artes visuais, o da dança e o do cinema.
6 No campo das artes cênicas propriamente ditas, experimentos com a presença do ator
“aqui, agora” ou com o “real”1 podem variar, segundo Fernandes (2007), de
“intervenções diretas na realidade, especialmente no espaço urbano, em geral referidas
como site specific, a modos renovados de teatro documentário, comuns no panorama
recente, sem esquecer a proliferação de performances autobiográficas e a inclusão de
não atores em cenas disjuntas” (2007: 03). Intervenções site specific, como a que iremos
discutir ao longo deste artigo, assumem o espaço urbano não apenas como o ponto de
partida da encenação, mas como sua própria matéria e fim, sendo concebidas não
“como um lugar a preencher, uma tarefa a cumprir, mas como uma experiência que
parte das condições concretas do lugar” (Pavis 2017: 313).
7 Situando-se, muitas vezes, no cruzamento do teatro performativo, das artes plásticas,
da instalação e do ativismo, essas intervenções são tomadas aqui como exemplos
extremos do que Bident (2016) chama de “teatro atravessado”, para se referir a
trabalhos que expressam um impulso de abertura do teatro e da representação para a
vida e o mundo ao redor. Operando, em grande medida, segundo uma ética relacional,
elas se inserem no domínio das interações humanas e propõem novos modos de
encontro, convívio e socialidade, para citar Bourriaud (2009). Tal é o que veremos com a
análise de “In_Trânsito”, performance realizada em vagões e estações de trem da malha
ferroviária do Rio de Janeiro, por um conjunto de cinco atores e três músicos, entre
integrantes e colaboradores da Cia Marginal.
8 A realização de “In_Trânsito” partiu de uma proposta inicial de Levi à Cia Marginal. A
diretora, atriz/performer carioca dedica-se a criação de projetos performativos
interdisciplinares. Sua pesquisa, focada no desdobrar autoral da presença do
performer, aborda relações de tensão do tipo centro-periferia presentes em contextos
urbanos, (pós) coloniais e de gênero - flagrantes na circulação restritiva de pessoas e
mercadorias, nas posições fora da heteronormatividade e nas heranças escravocratas e
extrativistas.2 Já a Cia Marginal criada em 2005, na Maré (maior complexo de favelas do
Rio de Janeiro), reúne, além de Penoni, na direção do grupo, uma produtora, seis atores
(todos moradores de espaços populares do Rio) e uma equipe estável de colaboradores.
Em 12 anos de trabalho continuado, o grupo desenvolveu uma linguagem cênica que
articula território, memória e política, baseando-se em imersões sensíveis e reflexivas
em contextos periféricos determinados, e em diferentes maneiras de inscrever o “real”
em cena. O caráter performativo dos espetáculos3 de palco do grupo decorre,
principalmente, do recurso a relatos autobiográficos, que, como diria Cornago (2009)
não se apoiam apenas na capacidade do performer “de contar lo que vio, sufrió o
experimentó, sino en la propia presencia de un cuerpo que vio eso, lo sufrió o lo
experimentó” (2009: 04). Como fruto do entrelaçamento dessas pesquisas,
“In_Trânsito” propõe ativar um jogo com o “real” em cena não apenas ancorado na
presença de um corpo que viu, sofreu e experimentou aquilo que conta, mas também na
relação com o espaço público, na desestabilização dos papéis do ator e do espectador,
assim como na atualização do mito no cotidiano, como veremos adiante.
9 Livremente inspirado na Odisseia de Homero, “In_Trânsito” procura intervir nos
espaços de trânsito entre a casa e o trabalho, tal como encontra-se expresso em trecho
do projeto da performance:
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
62
A ideia é que o mito de Homero inspire um novo olhar sobre as odisseias cotidianas
e que o tema do retorno de Ulisses à Ítaca depois da guerra sirva de analogia para o
trajeto percorrido pelos cidadãos comuns contemporâneos no seu regresso à casa
depois de mais um dia de trabalho. (“In_Trânsito – Odisseias Urbanas”, Prêmio
Montagem Cênica 2011)
10 Ao longo do artigo, abordaremos os jogos performativos propostos em trechos
escolhidos do percurso de “In_Trânsito”. Portanto, o trabalho não será analisado aqui
em sua totalidade, mas a partir de algumas partes exemplares, a saber: o trajeto inicial
que vai da Estação Central do Brasil à Estação de Bonsucesso e os tempos de
permanência nas estações de Bonsucesso, Manguinhos e São Cristóvão.
Odisseia, Central do Brasil e as regras do jogo
11 A Odisseia, de Homero, começa com o fim da guerra de Tróia. Após dez anos de batalha,
os gregos saem vitoriosos e Ulisses (Odisseu), o arquiteto do cavalo de Tróia, coloca-se a
caminho de Ítaca, sua terra natal. Em partida apressada, porém, negligencia as
obrigações para com o deus dos mares e o implacável Poseidon amaldiçoa o herói. Mais
dez anos vão se passar até que Ulisses consiga alcançar seu destino. Antes disso,
perderá tudo - navio, tripulação, amigos -, enfrentará sozinho a fúria dos mares,
monstruosas criaturas e, por fim, descerá ao Hades. A longa viagem de volta para casa
despedaça o herói. A transformação do caráter, como em grande parte dos antigos
mitos, é o tema fundamental da Odisseia. Este movimento, contudo, não é vivido apenas
por Ulisses. Em duas décadas de ausência, seu reino é invadido por pretendentes
ansiosos por tomarem sua esposa Penélope e sua coroa. Mas, a longa espera fortalece a
fibra daquela mulher que usa de toda sua astúcia para manter longe de sua cama os
invasores. Paradoxalmente, enquanto Ulisses é levado a despir-se de todo seu poder
soberbo, Penélope empodera-se de seu corpo, de sua casa e faz valer sua vontade.
12 Quando usamos a palavra mito, pensamos, muitas vezes, numa relação entre cultura e
tempo, ou ainda, numa história de antepassados, uma trama de ações que atravessa
gerações, sobrevivendo a elas e influenciando-as, até alcançar-nos hoje, aqui e agora.
Contudo, pensando deste modo, sublinhamos aquilo que no mito re-liga, remonta,
rememora, ressente, reafirma valores do passado, quer dizer, aquilo que segundo
Vernant (2009) serve à conservação e transmissão da memória social. Desse modo,
poderíamos dizer que a ação do mito sobre o corpo presente é conectá-lo ou fixá-lo às
suas heranças e tradições, ou ainda a um “fundo comum de crenças” (2009: 15). O que
em si não seria pouco. Porém, existe um outro aspecto que nos interessa pôr em relevo,
a saber, as forças que agem no mito, as forças que o movem. Quer dizer, interessa-nos
aqui, como nos sugere Artaud (1999) não “recorrer às imagens expiradas dos velhos
Mitos, (...) [mas] extrair as forças que se agitam neles" (1999: 96).
13 Tomemos um exemplo: a palavra grega týche significa, ao mesmo tempo, destino e
acaso. Pensar estes dois sentidos conjugados provoca-nos um esforço, um tanto
fissurante em nosso entendimento habitual, excludente, causal e não relacional. No
caso da Odisseia, týche seria, ao mesmo tempo, a força que leva Ulisses a fixar seu
destino em Ítaca e a que o faz atravessar uma série de acidentes em seu percurso. A
isso, então, equivaleria dizer que todos os acontecimentos acidentais que constituem
sua viagem jogam com seu destino? Está posta, justamente, nesta força-palavra (que
reúne acaso e destino) uma conjunção/acordo conflitante entre algo decidido,
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
63
estabelecido, fixo ou necessário e outro algo impensado, fluido, acidental ou
contingente.
14 É principalmente por esta perspectiva das forças que agem em um mito que tomamos o
retorno de Ulisses como inspiração da performance “In_Trânsito”. As analogias entre
guerra e trabalho, mar e trilhos, barcos e trens, ilhas e estações, reino e casa, forjaram-
se no processo como balizas, destinos estabelecidos, situações específicas que nos
colocaram em relação com o presente dos acontecimentos, no risco mesmo de sua
fluidez e imprevisibilidade. O processo laboratorial de construção da performance
permitiu-nos, portanto, a elaboração de uma escritura tecida pela inter-relação entre
realidade e mito.
15 Se por um lado buscamos extrair as forças que pulsam no mito homérico e nos
convocam outros tempos, por outro, encontramos no espaço real das vias férreas do Rio
de Janeiro os problemas atuais que constituíram nosso jogo performativo. O diálogo
constante entre essas duas camadas de experiência marcaram o processo de construção
de “In_Trânsito”. Assim, após oito meses de ensaios chegamos a uma estrutura, um
jogo-viagem onde os atores guiam os participantes ao longo de cinco estações da
Supervia4 (Central do Brasil, Bonsucesso, Triagem, Manguinhos e São Cristóvão) em
aproximadamente duas horas e meia de percurso.
16 Dois tipos bastante diferentes de espectadores/participantes formavam nosso público/
tripulação: aqueles que vinham à Central do Brasil (estação inicial) especialmente para
acompanhar todo o percurso da performance e os passageiros habituais, que
atravessavam a experiência de forma fragmentada, apenas enquanto seu destino
cruzava com o nosso, acidentalmente. No início do percurso, os participantes que
haviam ido à Central exclusivamente para acompanhar a performance eram divididos
em grupos identificados por cores diferentes e, em seguida, guiados por um ator-guia
específico.
17 A realidade brasileira dos transportes públicos de massa, com vagões e estações lotadas,
atrasos, acidentes, longas esperas, abandono e degradação da infraestrutura, colocou-
nos o desafio de criar uma estrutura necessariamente acidentada. Ou seja, um percurso-
jogo que avança sobre um terreno movediço onde mesmo as regras podem ser alteradas
durante a experiência da viagem. A relação com a (im)precisão dos horários dos trens é
exemplar nesse sentido. Se por um lado estabelecemos as fases do jogo com os
participantes de acordo com os deslocamentos entre estações e trens, sabíamos que o
tempo de duração de cada movimento poderia variar ao ponto de termos que pular ou
adiantar uma jogada. Essa instabilidade constitutiva exigiu dos performers-jogadores
uma atenção-corpo dilatada, ao mesmo tempo, íntegra no aqui-agora de cada encontro
e múltipla no alcance de cada um de seus sentidos. Em outras palavras, a necessidade de
encarar o imprevisto como elemento dramatúrgico do jogo, exigiu uma expansão da
presença do performer não apenas como jogador mas enquanto atualizador do próprio
jogo.
18 O exercício dessa sensibilidade ao presente dos acontecimentos inseriu-se no jogo
performativo através de dispositivos sensoriais e relacionais ativados pelos atores-guias
e partilhados com os passageiros durante as viagens, como veremos a seguir. Por
exemplo, pelo seccionar da percepção sensorial, pelo estímulo de outras possibilidades
de leitura das paisagens e pela ampliação de nosso tecido de relação e observação. O
jogo entre guias, passageiros e lugares era estabelecido, portanto, sobre este princípio
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
64
fundamental de deslocamento e reconfiguração da atenção - o que por sua vez tinha
como objetivo a ativação de lugares de encontro, encantamento e crítica.
Primeira viagem: de olhos vendados, “eu vejo”
19 O Rio de Janeiro expressa em sua geopolítica um apartheid social, econômico e
simbólico. A Zona Sul, tão cobiçada pelo turismo mundial, símbolo da beleza natural do
país, reduz-se a uma estreita faixa de terra espremida entre mar e montanhas. O
processo de gentrificação corrente na política nacional, em particular nas grandes
metrópoles, ganha contornos extremados no contexto carioca. Nos últimos anos, com a
realização dos megaeventos (Copa do Mundo e Olimpíadas), os processos de remoção da
população mais pobre das vizinhanças privilegiadas da cidade intensificou-se de forma
violenta, compulsória e sempre motivados por interesses alheios à vida das pessoas.
Contudo, a Zona Sul carioca mantém-se dividida entre asfalto e morro. Em “baixo”, os
bairros nobres da cidade, onde a especulação imobiliária e os preços exorbitantes do
comércio empurram para cada vez mais longe a população pobre (majoritariamente
negra). E em “cima”, as favelas, cidades suspensas sobre a cidade “oficial”, onde a
precariedade e a violência são mantidas por uma sociedade neoliberal de tradição
escravocrata. O apartheid expresso pela relação entre asfalto e morro na Zona Sul
carioca traduz-se na relação entre centro e periferia, se olharmos para a cidade do Rio
de Janeiro como um todo.
20 Esse contexto de desigualdade social que abrange toda a cidade é, evidentemente,
elemento fundamental para o jogo performativo que estabelecemos no espaço de
trânsito da malha ferroviária carioca. O “público”, que durante as três temporadas de
“In_Trânsito” (abril-2013, janeiro e julho-2014) deslocava-se até a Central do Brasil
especialmente para participar do percurso da performance, era composto, em sua
maioria, por pessoas de classe média, brancas, habitantes da Zona Sul do Rio de Janeiro,
ou seja, o mesmo público que habitualmente acompanha as programações de arte da
cidade e que raramente utiliza esse meio de transporte. Já os passageiros usuais da
malha ferroviária são trabalhadores, pobres, principalmente negros, que percorrem
cotidianamente longas distâncias para chegarem a seus locais de trabalho no Centro ou
Zona Sul da cidade e, ao fim do dia, para retornarem a suas casas. Portanto, a
experiência proposta por “In_Trânsito” colocou em jogo, fluxos e cruzamentos
incomuns de pessoas nestes espaços de deslocamento. O estranhamento provocado nas
estações e trens por onde se deslocava a performance produzia uma complexa rede de
relações. O elemento geopolítico era ativado por este cruzamento inter-subjetivo que,
por um lado, friccionava realidades carregadas de diferenças sociais e, por outro,
direcionava o olhar e a presença dos participantes para outros encontros, paisagens e
fabulações no aqui-agora da viagem. Isto significa que os modos de processar este
contexto “real” constituíram dispositivos fundamentais do jogo performativo. Esta
relação estrutural do jogo com o contexto fez-se ainda mais necessária e complexa pelo
fato dos atores da Cia Marginal serem moradores da Maré, ou seja, habitantes de um
bairro-favela da periferia e passageiros frequentes dos trens da Supervia.
21 A primeira experiência proposta aos passageiros de “In_Trânsito” acontecia no
percurso de trem entre as estações Central do Brasil e Bonsucesso. Neste percurso, com
duração de aproximadamente 12min, os atores convidavam os presentes a vestirem
óculos tapa-olhos e seguirem a viagem vendados (ver Fotografia 1). Diante desta
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
65
proposta, o jogo desenvolvia-se a partir das diversas posições assumidas pelo grupo de
pessoas que ocupavam o vagão:
1 - Passageiros-participantes que aceitavam de imediato a proposta, pois foram
dispostos a isso;
2 - Passageiros comuns que acabavam por convencer-se a fazer a experiência e
tinham alteradas suas percepções daquele percurso cotidiano;
3 - Passageiros comuns que negando-se a participar assumiam o lugar de
espectadores e comentadores;
4 - Atores-guias que transitavam entre cada uma das posições anteriores ao mesmo
tempo que zelavam por todos os que tinham os olhos vendados.
22 Sem serem informados para onde iam e nem sobre a duração do percurso, esta primeira
experiência colocava todos os passageiros-participantes em situação de
vulnerabilidade. A ausência da visão provocava uma imediata perda de referenciais
espaciais, o que estimulava os participantes a acessarem seus outros sentidos,
assumindo uma atitude mais meditativa e sensível que a habitual em espaços de
trânsito, onde o cansaço e a rotina desgastante anestesiam nossa percepção. A sensação
da viagem era marcada pela vivacidade de uma paisagem oculta. E a relação entre
participante e guia se construía neste momento, onde o desafio de confiar ou não num
desconhecido se colocava de forma concreta.
23 Ao longo do percurso, os atores-guias segredavam aos participantes vendados
anotações sobre suas experiências de trânsito nos trens, elaboradas desde o período de
criação do trabalho, e colhiam deles também suas impressões. Esse material era dia
após dia registrado e acumulado pelos atores-guias em pequenos blocos de anotações,
constituindo um repertório coletivo de impressões das viagens, o qual era manejado e
partilhado ao pé do ouvido dos passageiros-participantes sempre durante aquele
primeiro percurso (ver Fotografia 1).
Eu vivi uma cegueira branca, mas logo me veio uma cegueira negra. Os barulhos se
confundem o tempo inteiro, vozes, gritos, o caminhar no chão, o apito do guarda, as
vozes dos vendedores. Tudo é muito disforme. Sinto medo... A mistura das vozes
ficou muito acentuada na minha cabeça. Meu corpo ficou retraído, é como se eu
estivesse num lugar onde só essas vozes existissem. Ao mesmo tempo, eu sei que são
vozes, de pessoas... mas, tá tudo misturado. A viagem de fora é a mesma viagem de
dentro. (Trecho de “In_Trânsito”)
24 No primeiro trecho da viagem, o passageiro de “In_Trânsito” era, portanto, levado a
trilhar um percurso desconhecido, que alterava seus sentidos, aguçando sua percepção
e estimulando a criação de um espaço de encontro real e fantástico.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
66
Fotografia 1. “In_Trânsito”, 2013. Crédito de Renato Mangolin.
Estação Bonsucesso: Máquina de ver para trás
(...) em vez de Aristóteles e dos grandes
pensadores que vieram cobrir-nos de palavras e
conselhos, eis o que este século nos dá: um
espelho retrovisor!
Gonçalo M. Tavares
25 Dentre as forças presentes na Odisseia, aquela carregada pela figura de Penélope,
atualiza-se em “In_Trânsito” especialmente na Estação de Bonsucesso. 5 A ação mais
corriqueira que podemos observar em espaços de trânsito é sem dúvida a da espera -
pela chegada do trem, ou pela estação de destino. Mas, o que acontece durante a
espera? O que fazemos ou deixamos de fazer quando esperamos?
26 A etimologia do nome Penélope é controversa, contudo, uma das principais hipóteses é
a seguinte: Pene = fio, trama, tecido + ops = olho, face. Essa origem remete à famosa ação
da personagem que destece à noite aquilo que de dia teceu, para dessa forma ganhar
mais tempo de espera. E é justamente através desta ação de tecer e destecer
continuamente que Penélope expressa no mito sua força motriz: a memória. Ou seja,
uma força que se opõe ao esquecimento. Como nos diz Hannah Arendt (2000), a
memória, mãe das musas, é a força que em nós torna presente ao olho do espírito aquilo
que se fez ausente aos sentidos. Sem esta força primordial estaríamos também privados
da imaginação, ou seja, de nossa capacidade de produzir, compor e recompor
indefinidamente todo tipo de imagem. Em última instância, sem essa fonte de ausências
incorporadas pela memória e transformadas em imagem pela imaginação, não haveria
matéria alguma disponível ao pensar.
27 A ação da espera, tão comum nas plataformas e vagões de trem, colocou-nos, portanto,
diante do desafio de ativar a memória destes espaços-tempos ausentes que se
inscrevem nos corpos e nas paisagens presentes. Em resposta a esse desafio
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
67
construímos um objeto sensorial que pudesse ser vestido tanto pelos atores-guias
quanto pelos passageiros-participantes. Algo que, sem nos retirar do momento e do
espaço presente, nos fizesse tecer e destecer a memória da estação de Bonsucesso, de
seus arredores, das decisões políticas que fizeram com que aquele espaço fosse
construído, das modificações sofridas pelo bairro ao longo de sua existência, dos
conflitos ali vividos, das lendas que pairam sobre os trilhos. A esse objeto demos o nome
de máquina de ver para trás.
28 Um pouco antes de nosso vagão chegar à Estação de Bonsucesso, os atores-guias
retiravam de suas mochilas suas máquinas e, enquanto isso, contavam aos participantes,
ainda vendados, sobre o processo de construção do objeto.
Depois de meses fazendo essas viagens, eu comecei a me perguntar como funciona a
memória. Então eu peguei um capacete, um par de espelhos redondos, um par de
ferros sanfonados, e juntei tudo. Quando terminei, me dei conta de que tinha
construído uma máquina que você coloca na cabeça e na medida que vai
caminhando ela te mostra o caminho que vai sendo deixado pra trás. (Trecho de
“In_Trânsito”)
29 Depois disso, os atores-guias, já com suas máquinas em uso, recolhiam as vendas dos
participantes e conduziam o grupo para o desembarque na Estação de Bonsucesso. Num
primeiro momento, a tripulação acompanhava os guias em um percurso pela
plataforma. Todo o jogo nesta Estação era determinado pela ativação do objeto. Ao usar
a máquina de ver para trás sentíamos de imediato uma alteração em nosso modo de andar
e de olhar. E, ao desestabilizar parte estrutural de nosso deslocamento, éramos
impelidos a ralentar o ritmo e atentar para os detalhes daquilo que víamos e como
víamos. A visão e o deslocamento pelo espaço passavam a se conjugar de forma
incomum. Tal reconfiguração despertava nossa atenção para o fato de que a cada
momento operamos um processo de edição entre movimento e imagem. A ativação
desse processo gerava no corpo de quem usava a máquina um desejo de experimentar
versões, possibilidades de conjunção entre o que se via à frente e atrás e, ao mesmo
tempo, de subverter a percepção desses planos. Por exemplo, ao andar para trás
tínhamos a sensação de que avançávamos, pois quando andávamos para frente víamos
pelos espelhos as coisas distanciarem-se e quando recuávamos víamos tudo aproximar-
se (ver Fotografia 2).
30 Os passageiros-participantes acompanhavam e observavam as experimentações dos
atores-guias com suas máquinas por alguns minutos. Nesse percurso pela Estação, o
campo de visão abarcado pelos atores e suas máquinas se ampliava, progressivamente,
tanto em termos espaciais quanto de leitura desse espaço. Até que, à experimentação
física da máquina, somava-se uma leitura mnemônica do espaço. Quer dizer, os atores-
guias passavam a narrar o que estavam vendo, tecendo sua visão sobre o “real”, que,
aos seus olhos, era composto por fios de muitos tempos. A paisagem do aqui-agora era,
portanto, invadida por uma espécie de ação arqueológica da visão ativada pela máquina.
As narrativas tecidas pelos performers neste momento descreviam a paisagem presente,
ao mesmo tempo que escavavam sua história e seu porvir.
Eu vejo a região do Engenho da Rainha, ali onde está Pilares, Tomás Coelho e
Inhaúma. Vejo a casa da Rainha Carlota Joaquina. Vejo os escravos fugindo da
fazenda e se escondendo na Serra da Misericórdia. E vejo passando bem aqui nessa
rua, de baixo do teleférico, um comboio com carros blindados, tanques de guerra,
soldados fardados de preto, as famílias escondidas dentro de casa, ruas desertas,
sangue no chão, um helicóptero atirando desgovernadamente pra cima de homens
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
68
em fuga que seguiam na direção da Serra da Misericórdia, onde fica o Complexo do
Alemão. (Trecho de “In_Trânsito”)
Fotografia 2. “In_Trânsito”, 2013. Crédito de Renato Mangolin.
31 Terminada esta ação, os atores-guias retiravam as máquinas e ofereciam a todos os que
quisessem experimentá-las. A ativação das máquinas de ver para trás pelos passageiros
ocorria na própria Estação de Bonsucesso e também durante toda a viagem de trem até
a estação seguinte. O uso da máquina dentro de um vagão em deslocamento, com
espaços apertados e muitas vezes ventosos, adicionava ainda mais sensações e variações
na percepção do movimento e do olhar. Além disso, era encantadora a reação dos
passageiros comuns quando viam embarcar em “seu” vagão uma tal tripulação
“alienígena”. A interferência lúdica deste jogo na relação dos passageiros com os
espaços internos e externos do trem e na empatia entre passageiros trazia à tona a
potência dos lugares de espera.
Estação Manguinhos: O ruído das ruínas
Dentro da gruta não foi encontrar Odisseu de
alma grande,
que, como sempre, a chorar, se encontrava
sentado na praia,
a alma desfeita em suspiros sentidos, e prantos, e
dores.
Lágrimas, pois a verter, contemplava o infecundo
oceano.
Homero
32 “Nos ouvidos, diferentes vozes repetem em tom de mantra: fecho os olhos e as imagens
não param de passar. Diante dos olhos, (...) as marcas das escadas e cores das paredes,
onde existiram salas e quartos, decoram os fundos das casas que ficaram, e fazem
lembrar das que os tratores levaram.” Com essas palavras, Carlos Meijueiro, escritor e
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
69
ativista carioca, define a experiência proposta na Estação de Manguinhos, terceira
parada de “In_Trânsito”. Ao desembarcarem nesta Estação, os passageiros-
participantes recebiam um kit com fones de ouvido e um aparelho de mp3. Avisados do
tempo exato que teriam naquela nova Estação, eram instruídos pelos atores-guias a
colocarem os fones, acionarem seus mp3 e caminharem livres pela passarela, que se
prolonga suspensa sobre a favela de Manguinhos6 (ver Fotografia 3).
Fotografia 3. “In_Trânsito”, Plataforma de Manguinhos, 2013. Crédito de Renato Mangolin.
33 Única estação suspensa de toda a Supervia, a Estação de Manguinhos, na ocasião da
estreia da performance, em 2013, havia sido inaugurada há menos de um ano. Seu
aspecto semi-novo e futurista contrastava com a paisagem a volta: um mar de favelas e,
na margem da Estação, escombros de casas e vidas destruídas. Tendo sido remodelada
com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)7, a Estação de
Manguinhos não era o único resultado previsto pelo Programa para aquela localidade.
Além da Estação, vinham sendo construídos no bairro uma série de equipamentos
sócio-culturais e ampliadas algumas vias, tudo isso, contudo, às custas de um amplo
processo de remoções de antigas habitações populares.
34 Como foi notado por uma série de organizações de defesa dos direitos humanos e
também por movimentos de moradores locais, as obras do PAC em Manguinhos, a
exemplo do que ocorreu em outras áreas da cidade, não foram pensadas em diálogo
com a população local, promovendo, quase sempre, apenas um efeito de maquiagem
nas áreas de fronteira e visibilidade externa, como a que margeia a linha dos trens da
Supervia. Às vésperas da Copa do Mundo, que ocorreu no Rio de Janeiro, em 2014, e
também das Olimpíadas, sediadas no Brasil, dois anos mais tarde, a cidade do Rio se
transformou em um verdadeiro canteiro de obras, realizadas com aquele fim principal
de embelezamento, violando direitos básicos dos moradores das mais diversas
comunidades onde foram realizadas, o que se expressava de forma atroz no espetáculo
das remoções a que pudemos assistir, protegidos e impotentes, do alto da Estação de
Manguinhos.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
70
35 A estrutura da Estação, elevada sobre a favela de Manguinhos e que nos confrontava
com a imagem paradigmática do processo de gentrificação que a cidade do Rio de
Janeiro vive hoje, nos fez apostar, para aquela Estação, em uma proposta de ação
contemplativa, ou seja, que levasse os passageiros-participantes a nada mais que
contemplar a paisagem. A ideia de contemplação das remoções em Manguinhos, que
muitas vezes estavam acontecendo no momento exato de nossa presença na Estação,
com tratores em plena atividade de demolição das casas, e que evocavam tudo que já
não estava mais ali, os móveis perdidos, as paredes arrancadas, as pessoas obrigadas a
partir, conectava-se ainda à possibilidade de atualizar naquele espaço a experiência do
sofrimento de Ulisses no exílio, expressa em sua primeira aparição na Odisseia, quando,
do alto de algum rochedo da ilha de Ogígia, ele contempla o “infecundo oceano”, aos
prantos de saudade de casa.
36 A aproximação entre a experiência concreta de contemplação da paisagem de
Manguinhos e a Odisseia, entre cotidiano e mito, realidade e ficção/fabulação, não se
dava, contudo, sem medição, mas disparada pelo uso dos aparelhos de mp3 que os
passageiros-participantes recebiam logo que chegavam à Estação. O áudio a que
tiveram acesso por meio dos aparelhos foi criado coletivamente, com direção musical
de Arturo Cussen, e pode ser escutado na plataforma da internet Soundcloud
(In_Trânsito: 2014).
37 Trata-se de uma sinfonia de sucatas, quer dizer, executada a partir de pedaços de ferro,
plástico e madeira (canos, latas, baldes, sacos e toda sorte de objetos, ou fragmentos de
objetos), reproduzindo o som de um trem em movimento, que começa baixinho e cresce
pouco a pouco, até chegar ao ápice do seu volume sonoro, e, depois, abaixar novamente.
No ápice do volume, segue-se uma explosão com todos os objetos envolvidos na
sinfonia, como se a grande máquina sonora em movimento se quebrasse em mil
pedaços. Entrelaçadas a essa sinfonia, frases repetidas com diferentes entonações foram
gravadas pelos atores-guias. Eram fragmentos das anotações que fizeram durante o
processo de criação do trabalho sobre as paisagens mais marcantes ao longo do trajeto
onde a performance viria a acontecer: “Fecho os olhos e as imagens não param passar” /
“O mundo acabava na curva” / “Tudo era perto naquela visão” / “Tudo ia se quebrando,
se desfazendo, tudo virou uma coisa só” / “Lugar de movimento, de realidades que se
conectam por coisas em comum” / “Lugar de transição, de entradas e saídas que
lembram um grande porto” / “Para se chegar ao topo é preciso subir por um conjunto
de degraus que formam uma escada” / “Ao caminhar sobre os degraus é preciso manter
o equilíbrio, o peso do seu corpo necessita ser bem distribuído, assim, não cairá no
esquecimento”.
38 Devido à variação de horário dos trens a cada dia, operamos com diferentes durações na
Estação de Manguinhos. Ou seja, havia dias em que o tempo de permanência naquela
Estação era equivalente à duração do áudio distribuído aos passageiros-participantes,
de modo que, assim que terminavam de escutá-lo em sua caminhada livre pelo espaço,
eles eram rapidamente conduzidos ao novo trem que nos levaria à próxima parada. Mas
havia dias em que o tempo de permanência em Manguinhos era um pouco mais longo,
abrindo um espaço de espera entre a escuta do áudio e o embarque no novo trem.
Nesses dias, os atores-guias levavam sucatas e instrumentos para o meio da passarela
onde os passageiros-participantes se encontravam dispersos e executavam ao vivo a
sinfonia que aqueles últimos tinham acabado de ouvir com seus fones de ouvido. O
público reunia-se à volta dos atores-guias, formando uma grande assembléia no alto da
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
71
Estação. Após a explosão que se seguia ao ápice do volume sonoro produzido, com os
atores-guias atirando as sucatas e instrumentos ao chão, elas eram distribuídas aos
passageiros-participantes, que, assim, juntavam-se aos primeiros na produção sonora
daquela máquina em movimento, que, lembrando a própria vida, ainda que se
despedace no meio do caminho, levando a perdas, mudanças, deslocamentos e
transformações, sempre pode ser refeita, sobretudo, por meio da colaboração, enfim, da
ação coletiva.
Estação São Cristóvão: Plataforma de encontros
39 A última parada de “In_Trânsito” acontecia na Estação de São Cristóvão – bairro
imperial que se situa na divisa das zonas Central e Norte do Rio de Janeiro. Da parte
mais alta da Estação, por onde entram e saem os passageiros, via-se, de um lado, o
imponente Estádio Jornalista Mário Filho (o Maracanã); e, do outro, a perder de vista, os
jardins da Quinta da Boa Vista, onde residiram as famílias real e imperial portuguesas.
Se a entrada e saída da Estação nos possibilitava avistar aquela paisagem de
monumentos históricos tão contrastantes, a espera dos trens, por acontecer em um
nível mais baixo, sobre estreitas plataformas construídas em linhas paralelas na altura
do chão, limitava nosso olhar ao ambiente da Estação. Cercadas em sua extremidade
por altos muros de concreto, as plataformas de São Cristóvão dificultavam uma visão
mais abrangente do entorno, confrontando-nos, em contrapartida, com a
multiplicidade dos corpos e falas dos que estão, logo ali, do outro lado.
40 A estrutura da Estação de São Cristóvão, com suas plataformas em paralelo que
estabeleciam uma relação de frontalidade entre as pessoas em espera em cada uma
delas, separadas apenas pelo espaço das linhas dos trens, orientou a proposta de jogo
naquela última parada de nossa viagem sobre trilhos. Assim, ao desembarcarmos numa
das plataformas da Estação, os músicos se dirigiam ao ponto de espera mais próximo,
onde sempre havia um banco coberto por uma marquise. Ali, eles organizavam o seu set
de instrumentos, iniciando o tema musical que seria mantido com poucas variações até
o fim da ação em São Cristóvão. Ao se estabelecerem e começarem a tocar eles
marcavam, ao mesmo tempo, o lugar para onde os passageiros-participantes deveriam
se dirigir e se acomodar.
41 A ação de São Cristóvão iniciava-se com os músicos propondo um jogo de descrição e
fabulação que progredia acionado por três diferentes comandos, a saber: 1) descrever
os traços de uma pessoa em espera na plataforma à frente; 2) descrever os traços de
uma pessoa na plataforma em frente e narrar o que você acha que ela fará assim que
sair dali; 3) descrever os traços de uma pessoa na plataforma em frente e narrar o que
você acha que ela está pensando naquele momento (ver Fotografias 4 e 5). Esses
comandos não eram transmitidos de forma explícita para os passageiros-participantes,
como num manual de instruções, mas apenas a medida que a ação se desenvolvia.
42 Assim, num primeiro momento, os músicos se revezavam nas descrições de pessoas em
espera na plataforma à frente (características físicas, vestimentas, comportamento),
interrompendo-as apenas quando um novo trem chegava. Em seguida, assim que o trem
parado deixava a Estação, eles voltavam à descrição das pessoas, mas agora
acrescentando narrações sobre o que achavam que elas fariam quando fossem embora
dali. Por fim, depois de um novo trem estacionar e partir, eles prosseguiam mais uma
vez às descrições, especulando sobre o que se passava na cabeça de cada uma delas, ou
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
72
seja, sobre seus pensamentos. Ao fim e ao cabo, os passageiros-participantes já haviam
compreendido as regras do jogo: começar com descrições daquilo que se via, para
depois narrar o que estava no fora de campo do quadro (pensamentos e projeções para
o futuro).
Fotografia 4. “In_Trânsito”, Plataforma de São Cristóvão, 2013. Crédito de Renato
Mangolin.
Fotografia 5. “In_Trânsito”, Plataforma de São Cristóvão, 2013. Crédito de Renato
Mangolin.
43 Após os músicos terem improvisado a partir dos três comandos mencionados
anteriormente, passavam o microfone para os passageiros-participantes que, do mesmo
modo como fizeram os primeiros, punham-se a observar as pessoas na plataforma à
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
73
frente e, ao escolher uma delas, descreviam-na para depois fabular sobre seus destinos
e pensamentos. Do outro lado, encontravam-se pessoas em espera e, no meio delas,
como que camuflados, os atores-guias. Separando-se da tripulação assim que
desembarcávamos em São Cristóvão, eles se dirigiam à plataforma à frente,
misturando-se às pessoas que já se encontravam ali e às que não paravam de chegar.
Sem serem notados pelos transeuntes e passageiros comuns, pois não portavam
nenhum elemento que os diferenciassem drasticamente, eles também eram alvo das
descrições e narrações produzidas do outro lado. Comportando-se como qualquer outra
pessoa em espera na Estação, atuavam de modo a gerar empatia e interesse entre as
pessoas de sua plataforma pelo jogo. Só depois de algum tempo revelavam sua condição
de performers, oferecendo microfones de lapela, acoplados em caixas de som portáteis,
também aos passageiros de sua plataforma.
44 Se até então as descrições e narrações vinham apenas de um lado, provocando, no lado
oposto, risos e por vezes alguma desconfiança e desconforto, agora o jogo se invertia e
ambos os lados passavam a jogar, alternadamente. Com microfones circulando livres
nas duas plataformas, o jogo ia se desdobrando, produzindo diferentes tipos de
situações a cada dia. Uma pessoa que se apresentava para a outra do lado oposto.
Acenos de despedida com a proximidade de um novo trem. Ou ainda alguém que
aproveitava a audiência para cantar uma música ou para desabafar sobre a cidade de
exclusão na qual se transformara o Rio de Janeiro.
45 Na última parada da nossa Odisseia, individualidades emergiam da imensa massa
anônima. Ou seja, ao fim de nossa jornada, os “ninguéns” que transitavam aos jorros
pelas vias da Supervia convertiam-se em pessoas com traços físicos, pensamentos e
trajetórias singulares, com nomes próprios e o que dizer sobre si mesmos, sobre o outro
e sobre o mundo, atualizando, assim, outra experiência fundamental da Odisseia de
Homero. Em algum ponto do jogo escolhido pelos próprios músicos, sempre depois de
pessoas das duas plataformas já terem aderido à proposta de ação e diálogo, um deles
retomava o microfone e falava um texto que chamava a atenção para o fato de que, se
somarmos a quantidade de horas que gastamos em trânsito entre a casa e o trabalho
todos os dias, veremos que passamos quase dez anos de nossa vida em trânsito – o
mesmo tempo que Ulisses demorou para retornar à Ítaca depois da guerra em Tróia.
46 Terminada aquela fala, do outro lado, um dos atores-guias subia num banco e dizia um
outro texto, dessa vez, o derradeiro de nossa viagem, que não representava mais que
uma mínima parte de um percurso muito maior que cada um de nós tem, todos os dias,
pela frente: “Mais duas ou três estações, 500 metros até o ponto, vinte paradas de
ônibus, 6 quarteirões... Estamos perto de casa. Se a chuva não for muito forte, se os
bichos estiverem dormindo, se os tiros não forem tão perto, se os ventos soprarem com
a gente... Hoje, ainda hoje, nós vamos chegar em casa.”
Considerações finais
47 Da Central do Brasil à Estação de São Cristóvão, vimos como a performance “In_Trânsito”
se constitui como uma viagem-jogo que, ao lidar com uma paisagem viva e acidentada
(com variações de horário dos trens e diferentes fluxos de pessoas a cada dia), fricciona
os limites entre realidade e ficção, memória e imaginação, mito e história. Para tanto,
foram propostos diferentes modos de processar o espaço “real” no qual a performance
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
74
intervinha, na maioria das vezes, por meio de dispositivos que alteravam os sentidos
dos passageiros-participantes.
48 Assim, no primeiro trajeto descrito, aqueles últimos, ao terem seus olhos vendados,
eram levados a assumir uma atitude meditativa, que aguçava seus sentidos,
confrontando-os com o desconhecido latente em nossos percursos diários. Já na Estação
de Bonsucesso, o uso de um objeto com espelhos retrovisores acoplados (a máquina de
ver para trás) acionava os espaços-tempos ausentes, inscritos na paisagem presente do
entorno da Estação. Por sua vez, na Estação de Manguinhos, a escuta solitária de um
áudio composto originalmente para aquele momento da performance mediava a
contemplação de uma paisagem devastada e devastadora, construindo uma posição
crítica a partir de afetos míticos. Por fim, na Estação de São Cristóvão, um jogo de
descrições de paisagens visíveis e imaginadas, tecia encontros improváveis entre
pessoas apartadas por um mar de trilhos.
49 Ao propor novos modos de encontro e convívio, friccionando fronteiras sociais e
culturais, e abrindo o espaço-tempo do presente para uma atualização da Odisseia
homérica, “In_Trânsito” configura-se como um jogo de forças onde a premissa de que
“we are just playing” é sempre posta em questão.
BIBLIOGRAFIA
Arendt, Hannah. 2000. A vida do espírito. Rio de Janeiro: Relume Dumará.
Artaud, Antonin. 1999. O Teatro e seu Duplo, tradução de Teixeira Coelho, Martins Fontes Editora,
São Paulo.
Bident, Christopher. 2016. “O teatro atravessado”. In Art research jornal – Revista de pesquisa em
arte, v.3, n.1, p. 50-64.
Bourriaud, Nicolas. 2009. Estética Relacional. Editora Martins Fontes.
Cornago, Óscar. 2008. “Teatralidade e ética”. In SAADI, Fátima; GARCIA, Silvana(org). Próximo Ato:
questões da teatralidade contemporânea. São Paulo: Itaú Cultural, p. 20-31.
_______. 2009. “Atuar de verdade – a confissão como estratégia cênica”. Urdimento, Florianópolis,
v.13, p. 11-21.
Fernandes, S. 2007. “Experiências do real no teatro”. In. Sala Preta, v. 13i2, p.3-13.
Féral, Josette. 2008. “Por uma poética da performatividade: o teatro performativo”. Sala Preta, São
Paulo, n. 8, p. 191-210.
Fischer-lichte, E. 2007. “Realidade e ficção no teatro contemporâneo”. In. Sala Preta, v.13i2, p.
14-32.
Homero. Odisseia. Organização e introdução de Carlos Alberto Nunes. São Paulo, Hedra, 2011.
In_Trânsito. 2014. Disponível em: <https://soundcloud.com/joana-levi/in-tra-nsito-audio>.
Acesso em: 04 de julho de 2018.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
75
Lehmann, Hans-Thies. Teatro pós-dramático. Trad. Pedro Süssekind. São Paulo: Cosac & Naify,
2007.
Leite, Janaína. 2011. “Teatro documentário ou sob o risco do real”. In. Questão de Crítica.
Disponível em: http://www.questaodecritica.com.br/2011/10/teatro-documentario-ou-sob-o-
risco-do-real/#more-2798 (Acesso em 29 de nov. de 2015).
Pavis, Patrice. 2017. Dicionário da Performance e do Teatro Contemporâneo. Editora Perspectiva.
Schechner, Richard. 2006. Performance Studies – An Introduction (Second edition”. Routledge.
Vernant, Jean-Pierre. 2009. “ito e religião na grécia antiga. São Paulo, Martins Fontes.
NOTAS
1. Sem querer nos aprofundar em definições filosóficas do “real”, que não caberiam
dentro dos limites deste artigo, cabe dizer, entretanto, que o “real” será sempre tomado
neste artigo menos como elemento temático, do que como experiência performativa
que perfura o tecido ficcional, abrindo o teatro para a alteridade.
2. O racismo sistêmico e a exploração massiva e inconsequente dos recursos naturais
são exemplos emblemáticos dos atuais reflexos da história colonial na cultura e na
política brasileira.
3. “Qual é a nossa cara?” (2007), “Ô,Lili” (2011) e “Eles não usam tênis naique” (2015).
4. Supervia é o nome da empresa que recebeu do Estado do Rio de Janeiro a concessão
para operação comercial e manutenção da malha ferroviária urbana de
passageiros da região metropolitana do Rio até 2048. Transporta uma média de 750 mil
passageiros/dia, viajando em 204 trens, por uma malha de 270 quilômetros e 102
estações, ao longo de 12 municípios.
5. Bonsucesso é um bairro da Zona da Leopoldina na Zona Norte do Rio. A área onde se
integra o atual bairro, na época colonial, estava compreendida no chamado Engenho da
Pedra, por onde era escoada a produção agrícola e de açúcar do recôncavo do Rio de
Janeiro. Como muitos bairros da cidade, Bonsucesso encontra-se próximo a grandes
complexos de favelas, como por exemplo a Maré, formada por dezesseis comunidades
que se espalham por cerca de 800 mil metros quadrados, que começa nos morros
próximos à Avenida Brasil e vai até a margem da Baía de Guanabara, sendo cortado pela
Linha Vermelha e pela Linha Amarela, além do Complexo do Alemão.
6. Manguinhos é um bairro da Zona Norte da cidade do Rio, que abriga um conjunto de
favelas. A favela que se situa nas margens da estação de trens de Manguinhos é a única
que leva o nome do bairro, sendo as demais conhecidas por diferentes designações,
como “Coreia”, “Mandela” e “Amorim”, entre outras.
7. O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi criado em 2007, no Brasil,
durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva, visando “o planejamento e a execução de
grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética no país”, tal como
encontra-se expresso no sítio eletrônico do Programa. Para saber mais, ver http://
www.pac.gov.br/.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
76
RESUMOS
Este artigo aborda os jogos performativos instaurados em vagões e estações de trens da malha
ferroviária do Rio de Janeiro (Brasil) por meio da performance site specifc “In_Trânsito -
Odisseias Urbanas”. Realizada entre os anos 2013 e 2015, a performance é resultado de uma
parceria entre Joana Levi e o grupo de teatro carioca Cia Marginal, tendo sido dirigida por ambas
autoras do artigo. Ao longo do texto, veremos como “In_Trânsito” se constitui como uma viagem-
jogo que, ao lidar com uma paisagem viva e acidentada, fricciona os limites entre realidade e
ficção, abrindo o espaço-tempo do presente para uma atualização da Odisseia de Homero.
Based on the site-specific performance ‘In_Transit—an Urban Odyssey’, this article describes a
series of performances that took place in railway stations of Rio de Janeiro, Brazil. The
performances were a collaboration between Joana Levi and the Rio de Janeiro theatre group Cia
Marginal, directed by the authors. We discuss in which way ‘In_Transit’ constitutes a journey-
game that blurs the boundaries between reality and fiction, and consequently opens up space and
time for a re-enactment of Homer's Odyssey, by dealing with living and edgy landscapes.
ÍNDICE
Palavras-chave: performance site specific, intervenção urbana, Odisseia, Cia Marginal, Rio de
Janeiro
Keywords: site-specific performance, urban intervention, Odyssey, Cia Marginal, Rio de Janeiro
AUTORES
ISABEL PENONI
UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro.
Isabel Penoni é diretora de teatro, cineasta e antropóloga, com mestrado e doutorado pelo
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) do Museu Nacional, UFRJ, e pós-
doutorado pelo Musée du quai-Branly (Paris, França). Atualmente, realiza novo estágio pós-
doutoral no Programa de Pós-Graduação de Artes Cênicas (PPGAC) da UNIRIO. Desenvolve
projetos colaborativos de pesquisa, criação cênica e produção fílmica em diferentes áreas
indígenas do mundo e na periferia urbana do Rio de Janeiro. É diretora fundadora do grupo
teatral carioca Cia Marginal, respondendo pela direção dos espetáculos “Qual é a nossa cara?”
(2007), “Ô,Lili” (2011), “In_Trânsito” (2013) e “Eles não usam tênis naique” (2015). No cinema,
dirigiu “Porcos Raivosos?” (10', 2012) e "Abigail" (17', 2016), ambos exibidos na Quinzena dos
Realizadores (Cannes 2012 e 2016) e premiados em diversos festivais nacionais e internacionais.
isabelpenoni@gmail.com
JOANA LEVI
Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Departamento de Filosofia.
Joana Levi é diretora, atriz/performer, formada em Filosofia pela USP e, atualmente, desenvolve
sua pesquisa de mestrado em Filosofia/Estética ("O estado da embriaguez em Nietzsche e
Artaud") na Universidade Nova de Lisboa. Nos últimos anos dedicou-se a criação de projetos
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
77
contextuais e indisciplinares, dentre eles: a performance-exposição "Museu Encantador" (MAM-
RJ), o espetáculo multimídia "Rózà" (Festival de Curitiba) e a performance site specific
"In_Trânsito" (Prêmio Montagem Cênica 2011). Como atriz/performer trabalhou com Sónia
Baptista, José Celso Martinez Correa/Teatro Oficina, Roberto Bacci/Fondazione Pontedera Teatro,
Cacá Carvalho/Casa Laboratório, entre outros. Há quinze anos pesquisa as relações entre
presença, processos da imaginação e experiência perceptiva-sensorial e, desde então, ministra
laboratórios para atores, bailarinos e performers.
joana.levi@gmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
78
Teaching Anthropology
Speculatively
Andrea Gaspar
EDITOR'S NOTE
Date received: 2018-02-28
Date accepted: 2018-06-21
AUTHOR'S NOTE
I would like to express my gratitude to the anonymous reviewers for their insightful
comments on an earlier version of this text. Special thanks also to the students with
whom I developed these pedagogic exercises, whose curiosity and engagement were
key to turning these exercises into playful and adventurous learning experiences.
From speculative research to speculative pedagogy
1 In the last decades there has been a turn in social sciences to the performative, which is
related to a shift in the relation to the empirical: research, and research methods, are
now understood as non-representational (Law 2004; Back & Puwar 2012; Lury &
Wakeford 2012), which means that the empirical is not a given nor something out there
to be mapped, collected, described and analysed; the empirical is something that is
brought into being through the research process (Law 2004; Savage 2013). This
performative relationship between research and the empirical recently became more
proactive - it has turned speculative (Wilkie et al 2017).
2 Speculation refers to a sensibility to generate the new through research, in which the
difference regarding the performative is temporality. The main influence on the social
scientists' engagement with speculative temporality has been the philosophy of science
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
79
(mainly A. N. Whitehead, I. Stengers and G. Deleuze), but also design. Speculative
Design emerged as a challenge to user-centred and corollary functionalist assumptions
that constitute modern rational planning. The aim of Speculative Design is not to
provide techno-aesthetic solutions to pre-defined problems or to "domesticate"
technical inventions, but rather to mobilise design as a "catalyst for social dreaming"
(Dunne & Raby 2013: 189). Social sciences are borrowing this temporality for their own
ways of producing knowledge whereby the empirical is understood through a different
temporal lens: the empirical is something to be brought into being. The interest in the
speculative, either in design or social research, is an impetus to resist the linearity of
modern time (Savransky et al. 2017: 4) and the rational predictability that is associated
to it, enabling us "to consider temporality as it is formed through its own patterns of
becoming rather than through the imposition of a preformatted geometry"(ibid). Thus,
speculative research emerges not only as a more inventive and creative mode of doing
research, but mainly through the cultivation of an eventful sensibility (Michael 2012a;
2012b; 2015) or as Savransky et al. put it, a pragmatics that deals with eventful
temporalities (2017: 7). In other words, the speculative is a device for opening up
futures rather than predicting them or closing them down: it is learning how to work
outward from the contingencies; a pragmatics that involves acting on possibilities and
demands "new habits and practices of attention, invention and experimentation"
(Savransky et al. 2017: 2) and "modes of relating to the not-yet" (ibid.: 5).
3 Notwithstanding anthropology's long tradition of epistemic estrangement and a long
genealogy in the "deployment of the contradiction, the counterintuitive, the paradox,
the rupture as a source of methodological revelation" (Comaroff 2010: 531) - a
methodological sensibility that could fairly be considered speculative in its own right -
the shape that research explicitly and proactively assumes in speculative anthropology,
however, remains unexplored - despite some attempts to experiment with what
speculative ethnography can be (Gaspar 2018). The relationship between speculative
research and anthropological pedagogy offers interesting opportunities for that
endeavour. Some of the recent literature on pedagogy in anthropology explores the
relationship between pedagogy and uncertainty (Alexander 2017; Harp-Rushing 2017).
These debates, however, focus primarily either on uncertainty as an outside, as part of
a social context (for example, considering "how to teach and prepare students for
futures defined by uncertainty," Alexander 2017: 1), either as something achieved
through a critical, reflexive practice able to unsettle "knowledge, beliefs, hopes and
prejudices" (ibid: 3) working thus as a political mode of resistance (Harp-Rushing 2017).
Nevertheless, in any of these approaches uncertainty is something to be produced or
even designed (through means other than critical reflexivity).1 Drawing on a set of
pedagogic experiments in Coimbra, my aim is to explore this possibility.
Anthropology in Coimbra
4 Once, while in my first year of teaching, I asked students in a course of "Material
Culture and Museums" to research the biography of a person through the biography of
an object, which implied doing interviews with someone about the history of a personal
object belonging to that person as a means of investigating that person's life history. I
imagined that students would be prompted to explore objects for the sake of knowing
more about people’s lives, but they actually revealed themselves to be very resistant to
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
80
the idea and a great part of them just could not figure out "what I wanted": it was not
clear to them if they should do biography of an object or rather of a person. "Both," I
explained; "the object would be the methodological medium, the pretext for
researching biographic-social worlds with the goal of understanding that objects and
persons' biographies are intermingled." Still, from a practical-methodological point of
view, most did not find it clear, and some of them asked for instructions on what to do -
which at the time I felt as a sort of heresy! (as an anthropologist I tend to take for
granted that ethnography is a tacit, learning-by-doing kind of skill about which there
are no "rules" to follow). What most of the students ended up doing, which for me was
very frustrating, was simply adapting the biography of a subject they had already
collected for another course by adding an object to it, while literally reproducing the
discourse collected. At that point I realised I had a problem: the expectations I had for
students were completely mismatched to what they could do in reality. This is
revelatory to some extent of the specificities of my academic institutional context but
also affirms the fact that the methodological and pedagogic toolkit that I had inherited
from previous generations of anthropologists was not adequate for these conditions.
5 The department where I am teaching is the same department where I graduated in
anthropology more than fifteen years ago, although it is now barely recognizable to
me. The main difference is that it used to be an Anthropology Department but some ten
years ago it was transformed into a broader Life Sciences Department that includes all
the biological sciences. Most of my students are, unsurprisingly, more interested in
physical rather than social anthropology. While in the former Anthropology
Department students would specialize in one of the areas - social anthropology or
physical/biological anthropology - nowadays students acquire skills in both fields,
which means that for the majority of them, social anthropology is merely burdensome.
I learned that from the students' perspective, the social anthropology courses are too
theoretical when compared to the biological ones. In physical anthropology they have
laboratories for hands-on experiments that provide them the opportunity to collect
data in the field. In social anthropology we do not have that. As practical learning, we
either ask students to write essays or read texts and discuss them in class, or make
presentations in class based on those readings, nonetheless all of these are theoretical
exercises. The kind of empirical exercises that I once did as a student (essays that were
based in small ethnographic exercises) somehow became unadjusted to students in this
current academic context, not only because learning in a neoliberal academy is
generally expected to be more practical (Tokumitsu 2017), but also for contextual
reasons. While formerly a degree in Anthropology would take four to five years, with
Bologna's higher education reform the degrees have shrunk to three years. In addition,
each of us in social anthropology teach an average of three courses per semester with
around 60 to 100 students per course, which makes it virtually impossible for us to
guide students in an "old style" empirical process or even read all their essays. As a
consequence, students do not acquire the skills to perform what we would consider
proper empirical exercises, and thus, when writing essays or any other basic empirical
exercises in social anthropology, what they often do is just reproduce "native"
discourses, taking them for granted as "information". The problem I want to highlight -
which is shared among my colleagues - is that we seem to try to teach social
anthropology with a nostalgic, idealized model of the social-anthropology student in
mind, corresponding to a pre-Bologna Accord world. Rather than complaining about
the contextual and institutional conditions that brought us to this situation, I will
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
81
describe how I transformed those conditions into inventive pedagogies; how very
pragmatically I tried to turn the limitations into possibilities, which is something I
consider related to a speculative sensibility - according to Stengers (2010), "Pragmatism
is the care of the possible."
Designing pedagogic exercises speculatively
6 Unsatisfied with my previous pedagogic attempts, I embarked on what I called
"laboratories" in social anthropology. If physical anthropology has "laboratories" and
these are what seduce students to that area, I wondered what laboratories of social
anthropology could be like? That was how I transformed the practical lessons of two
courses in two laboratories: one, a Laboratory in Visual Anthropology and the second, a
Laboratory in Material Culture and Museums. These laboratories consisted of a set of
exercises developed during each practical lesson (these courses are divided into
thirteen lectures; the class is also divided in smaller groups with twelve practical
lessons for each group, all with two hours for each lesson). We usually met in the
classroom, where I would give instructions to students on a series of activities meant to
collect empirical material, and 30 minutes before the end of the lesson they were to
return to class to discuss the material collected. First I will describe briefly these
exercises before discussing how they turned into what I consider eventful pedagogies.
Laboratory in visual anthropology
Module 1: Observational Photography: exploring the work of one photographer
7 I used the first three lessons of this laboratory to introduce students to an
observational sensibility asking them to explore the work of one photographer (not
necessarily an anthropologist) whose work has an observational character. I gave
students a list of photographers,2 from which they could choose and explore the work
of one and make a presentation about it in class.3 This initial set of classes, consisted in
students' presentations and my comments on them. Their presentations provided me
opportunities to highlight some aspects that are particularly important to
ethnographic observation. For example, the attention to the specific, the relationality
and intimacy created with the subjects photographed, the tension between the
subjective and the 'realistic' objective, etc. In the following three lessons, students
would experiment with the use of visual media for empirical observation.
Module 2: Practicing with visual media on the campus
8 The first of this second set of lessons started with students doing observation outside
the classroom on the campus. They would choose a place where they would remain for
about an hour and they would write fieldnotes on what they could observe. Then they
would come back to class for a half an hour discussion based on the material gathered.
These were opportunities for me to teach them how to take fieldnotes and what these
fieldnotes should look like, stressing for example the importance of gathering detail
from which we can afterwards interpret.
9 In the next lesson they did the same observational exercise but using photography with
mobile phones to document their observations. While in this first approach
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
82
photography was used in a non-interactive way, a week later the exercise turned into
an interactive one: students were told to interact with people on the street, trying to
discover who they were and what they were doing in Coimbra, and ask permission to
take pictures of them with the aim of documenting the interaction. In the next lesson
students showed their visual materials and we discussed them. One of the issues
discussed was the difficulties in receiving permission and the problems and possibilities
that the medium creates. For instance, some of the people the students interacted with
did not give permission to be photographed, while others were happy to take selfies
therefore controlling their own representation of themselves.
Module 3: Documenting «Baixa» for producing a visual essay
10 The final set of exercises, composed of three other lessons, was in Baixa (downtown
Coimbra), where they would be using the visual media they had been experimenting
with previously to collect material for a visual essay about this place. Baixa is a socially
depressed area of the city, experiencing decay and abandonment, alongside the threat
of speculation and gentrification. The intention was to introduce students to "Há
Baixa",4 a collective of architecture students from the University of Coimbra aiming to
intervene in the public space through architectural infrastructures and social and
cultural activities. These exercises were envisioned as an opportunity to provide
anthropology students a contact with this project so that in the future they could
explore ways of collaboratively contributing to it through anthropology. 5 To some
extent, and in tune with a current debate in anthropology (Estalella and Criado: 2018),
this was a way of exposing them to the challenges of (ethnographic) intervention and
collaboration.
11 The exercise in Baixa started with a walk, where I asked students to follow me silently,
while paying attention to as much sensorial information as they could get in order to
"read" the place. After one hour walking, we sat on the street and I asked students to
write fieldnotes of what they observed, based on their memory and physical sensations
of the place. This was a precious opportunity for me to intervene in their perception of
what an anthropologist is expected to collect as data. In this situation, students tended
to produce general impressions rather than capturing specific details, and only a
minority of them were able to describe detail, for example parts of conversations they
heard, images they captured, etc.
12 Then, in the next lesson, in the first half of the lesson we had a conversation with one
of the architecture students of "Há Baixa" who presented the project to us and opened
a discussion about the problems of Baixa. In the second half of the lesson students
experimented with ethnographic drawing: the instructions were that they should
choose a place where they would draw what they observed from that place, during 45
minutes. Drawing what they observed did not necessarily mean drawing what they saw.
I stressed that drawing, in this case, was not meant as a product but rather as a part of
the process of observation and therefore they did not need to limit themselves to what
they saw. What they would register would be all the things they would select to register
visually from what they observed during a certain time. I gave them some examples
and showed them pictures of my participation in a similar exercise, a workshop
proposing to explore anthropology through drawing in the EASA conference in Milan,
2016. Unsurprisingly, a great part of students in fact limited themselves to drawing
what they saw as an objective register. Some of them spent most of their time choosing
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
83
the place, although I insisted that it could be any place, but they were too focused on
the object to be drawn rather than on the observational process. Some of them,
however, did very interesting drawings with a level of detail that I would consider very
observational (see picture 1) - again, this situation opened up the opportunity to
explain to them what is considered observational and what is not, and why.
Picture 1: Observational drawings made by the students. Picture taken by the author.
13 The next exercise (the 3rd lesson in Baixa) consisted of a 30 minute walk that students
would perform individually, while also taking observational pictures with mobile
phones. During this walk they were supposed to choose a place where they would
remain for another 45 minutes and observe the place - I suggested they choose cafés
and tascas (small restaurants or places for snacks and drinks usually attended by local
people). The challenge now was to interact with people in those places while
registering as much observational material as they could, through fieldnotes, drawings
or pictures. I distributed these instructions to students on small pieces of paper that
they carried along with them and I emphasized the need to be observational in a
specific place. Most of the students, however, went directly in search of opportunities
for interviews, since the instructions mentioned "interaction" with people. Hardly any
of them really stayed in the same place for 45 minutes as I had suggested, nor did they
collect material from observation other than what people said to them - they
approached people on the streets and shops asking them, for example, what they
thought of Baixa, what it means to them and how Baixa has changed over time factually.
Even though I tried to emphasize the importance of their own perception and their
embodied experience, while presenting their visual essays later in the course most of
the students tended to depict Baixa as an objectified whole. Some of them even tried to
refer to the senses in general - "In Baixa we usually hear this and that, and the smells
are these and that" - but without showing an understanding of what a situated and
embodied sensorial account could be. Although students have lectures in which the
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
84
partial and interpretational character of ethnographic knowledge is emphasized, what
this exercise revealed is that they tend to think of ethnography as a representational
exercise. These exercises were valuable not only because they provided me the
possibility to intervene in this and many other perceptions, but also because they
provided the conditions for the occurrence of epistemic events that are potentially
transformative of what is taken for granted not only by students but for all of those
involved (teacher included). In one of those moments when I was confronting students
with what they did wrong, something unexpected happened, turning the pedagogic
situation into an event, where I turned into an idiotic teacher (Farías and Criado 2018).
I will discuss this event later on, but first I will explain the other exercises I developed
simultaneously, with the same students in another course.
Laboratory in Material Culture and Museums
14 In Material Culture and Museums, students started with empirical exercises departing
from objects. I started the course with the presentation of the plan - saying it was
meant to be a laboratory where they would develop a number of practical, empirical
exercises around objects in the first stage, while in the second stage they would collect
objects for a small exhibitive exercise. Although I designed a plan, the plan still needed
a fine-tuned definition, for example I did not have a clear idea from the outset of
exactly what the activities would be for the collection of objects (which objects? How
would students collect them? How would the exhibition be, and on what topic?) These
were the details I kept open for refining through the course while doing it - in a certain
way, I was prototyping (Corsín Jiménez, Estalella and Zoohaus 2013) my pedagogic
toolkit.
Module 1: Objects
15 Similar to the Laboratory of Visual Anthropology, the first set of exercises consisted of
going outside to observe the social life of the university campus from a material culture
perspective. The theoretical topic I was approaching in the lectures of the course was
Reynolds' concept of material systems, and in articulation with that, the instruction
was: students should choose one object - either personal or from the environment - and
observe what happens around or through it, taking observational notes of it. Some of
the students focused on things from the environment - such as ATM machines, stairs or
tourist buses - and looked at the social life that happened around it in the period they
observed it. Others, however, looked at personal items, such as mobile phones, and
described the behaviour of people with them. I stressed to them that the first situation
turned out to be more interesting because objects were the means that opened them up
to observational situations while in the second case, objects were closed in themselves,
as objects to be described.
16 In a second lesson, they should interview people about the stories of some personal
items, such as bags or pastas (the academic black leather folders that students use
specifically in Coimbra as part of their traje (the traditional academic outfit). Some of
them collected very interesting observational material from those who populate the
space, either from students or from tourists. The topic was related to the theoretical
lessons' topic, which was Appadurai and Kopytoff's "social life of things" and thus the
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
85
aim was to show them that while trying to do a biography of things we are also
studying the biography of people.
17 In a third lesson, the theoretical topic was the anthropology of consumption based on
Daniel Miller's work. I started the lesson asking them to talk of something that they
bought recently, why they bought it and what for. After this exercise, I told them to go
outside and make the same inquiry to people and then come back to report the
material they had gathered. The idea was to show them that consumption practices are
related to processes of construction of identities - personal, but also collective, such as,
for example class and/or culture. Finally, the fourth of these lessons was for describing
Latourian networks and material agencies.
18 Despite certain degrees of improvisation and iteration, until this point there was
nothing pedagogically speculative to mention: the exercises were means of relating to
the contents that were being discussed in lectures; they were ways of eliciting some of
the concepts that were already part of the courses' programme. However, it was this
(albeit to some extent very conventional) practical structure (the sequence of exercises
and its instructions) that nonetheless provided the speculative opportunities that I am
interested to discuss here and which emerged mostly in the next exercises.
Module 2: Museums
19 After these initial sets of exercises around objects, we turned to the topic of museums,
which started with a museum visit to the ethnographic collections of the university. At
this point, I had to find out what to do in the following lessons: my problem was how to
occupy a certain number of lessons with an activity that I had roughly defined as
"object collection". The following idea solved my problem.
"Kit of idiotic objects for social research"
20 This sequence of exercises was something that was not planned in advance, although
roughly planned for object collection. I imagined a device specifically for that task: a
"kit of idiotic objects for social research" meant to be used as tools for opening up
ethnographic conversations. I presented students a kit that I had assembled myself, but
before showing it to them I explained what the "idiot" is, as a theoretical figure, 6 and
where it comes from and why is it relevant for us here. "Until now, we have been
approaching objects as something which has meaning, or several layers of meanings
(biographies), which the ethnographer is supposed to interpret. What about objects
that do not possess any meaning?" The idiot is what does not make sense, does not
have any meaning, but can open up other meanings or processes of meaning-making.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
86
Picture 2: Objects of my own “kit of idiotic objects for social research”. Picture taken by
the author.
21 As an example of an idiotic effect, I presented myself with one of the objects I took from
my kit - an apron with an image of the body of a woman in lingerie. I put the apron on
to show them that presenting myself to a class that way is inappropriate, so it created a
disruption in the normal course of things leading us to think of what are the
appropriate ways of presenting ourselves in a classroom situation - "there are certain
types of clothes we usually don't bring to a class, such as pyjamas or beach clothes,
which leads us to the implicit rules of behaviour that are considered normal to a class
and that we usually don't think about but perform accordingly," I told them. "This is
the effect of the idiot: bringing some sort of disruption and therefore making us think
about that implicit normality". In which ways can we provoke that effect, what tools do
we need? In design this is almost a routine practice of extracting novelty through the
intended provocation of surprise and unexpected effects that are useful for the design
research process - for example, Mike Michael's (2012a 2012b) account of speculative
designers' use of "cultural probes" (material devices aimed to stimulate empirical and
creative effects). However, such a practice is not so common in Anthropology, although
some interesting experiments are worth mentioning - for example the art-inspired
anthropological modes of research explored by Ethnographic Terminalia in the US, 7 or
the work of EBANOCollective in Portugal.8 The recent turn to design in anthropology
also goes in that direction: for example, Design Anthropology (Gunn et al. 2013) which
advocates "a distinct style of knowing" through the collaborations between design and
anthropology, and Keith Murphy's work (2016), whose stance is that design should
inspire newer forms of undertaking anthropology, namely through more
interventionist modes of research. Objects and material culture are an opportunity for
anthropology to experiment with art and design modes of intervention. It was in this
spirit that I presented to the students a kit of "idiotic objects" - ranging from some of
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
87
my children’s toys, to unusual postcards and other intriguing but meaningless objects -
and invited them to speculate about these objects' stories and meanings (see picture 2).
22 I distributed some of these objects to them and invited them to work in pairs, inventing
a story around them, which they should perform to the class afterwards (see picture 3).
Students revealed themselves as very imaginative and actually used the objects while
performing the stories they themselves have made up.
Picture 3: Students involved in their speculative exercise around "idiotic" objects.
Picture taken by the author.
23 The following step was asking them to assemble their own "kits of idiotic objects",
individually, and bring them to the class next lesson. These were the objects they would
use onwards for collecting materials, which in turn would be used for our small
exhibition at the end of the semester.
24 Students collected around ten idiotic objects each and used those objects to approach
people on the same basis that I did to them in class. They would invite people on the
street to speculate about those objects, but with an additional ingredient: those stories
would be about Coimbra. They collected a number of stories and shared them at the
end of the class - some of them quite creative, some futuristic, others set in the past.
Then, in another lesson, I asked them to use each of the objects individually to ask
people to speculate about each object’s origin and stories, again having Coimbra in
them.
25 The aim of this exercise was to collect a certain number of objects and their stories for
our small exhibition exercise. We started thinking about the concept and the
pragmatics of the exhibition: what would the shape of the exhibition be, and where and
how would it be presented? What would we do with the speculative stories around
objects: would they be presented through a portfolio, or through little paper books
made by the students? As I explained to them, we were prototyping what a speculative
museum can be - prototyping is also a theoretical topic of the course (Corsín Jiménez et
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
88
al 2013); an important gesture, I told them, because in anthropology objects are usually
approached for what they mean, but their meaning is already closed down and made by
others rather than something to be brought into being. I should stress, however, that
this justification was not the primary reason I thought about this exercise as such: I did
it for very pragmatic reasons: the plan I had designed for the exercise consisted of
collecting a number of objects for a small exhibition. However, this raised a practical
problem: if the objects to be collected were objects in the traditional material-cultural
sense, that is, objects-with-meanings, with stories, objects of the people we interact
with during fieldwork, then how would we deal with the problem that these are usually
personal objects that people would not be willing to lend for the exhibition? Either
personal objects or objects that have some sort of utility for the people who own them
might be a problem for our exhibition, and so I had to find a way of using other kinds of
objects and objects that students could bring seemed to be the solution. From this
practical need, the articulation with the idiot and the speculative was a very short step
away. This practical problem is not an irrelevant detail. My point is precisely that it was
these practical problems that stimulated me toward creative articulations that
otherwise would not have happened - and this in itself is a speculative gesture able to
extract potential from the concrete conditions of the present.
What makes these exercises speculative?
26 According to Diprose (2017), the way teaching is currently managed and evaluated in
universities does not "foster the opening of paths for thinking," because teaching is
understood in terms of Socratic maieutics and mimetic inspiration (2017: 47). Socratic
maieutics is closed, predictable knowledge while inspiration, which is central to
speculative thinking, is being exposed to or affected by the other: "Inspiration by the
other disrupts the status quo and leads to transformations in meaning and in the
reality of experience" (ibid: 47). The exercises that I am describing worked as
inspiration to my own process of learning how to teach anthropology in this particular
milieu. They were speculative, on the one hand, because of the way they related to
theory - they were a way of opening up theoretical threads by engaging students in
empirical situations. For example, considering the Baixa exercises, Design
Anthropology and the collaborations between Anthropology and Design are some of the
topics of the course, but the exercises, rather than just illustrating these topics, provide
an opening into them, a practical means to explore these topics. The same is true for
the idiot and the interest in intervention and the speculative as a topic: these topics are
not ends in themselves but they provide openings to articulations that could not have
been predicted beforehand (see the next topic). They were speculative, on the other
hand, because in this process I operated somehow as a designer: in search of solutions
for specific problems, I was designing exercises (planning them, adjusting them,
prototyping them), and I was designing them speculatively - not just because the plans
were open and I had to rely on a considerable amount of improvisation, but because I
was creating the conditions for these openings. In other words, these exercises were
speculative not just because I was exposing students to the other, but because the other
(that which was unknown to me in first place) was being produced through the very
pedagogical opportunities created. Let me now turn to examples of this.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
89
The idiot as a speculative figure: the emergence of the
idiot in «Baixa»
[...] when there is thinking together, it is always
of the order of the event. But the care of the
event, meaning that from which the situation can
receive this power - which is not usual, which is
not given - this requires a whole culture of
artifice... (Stengers 2011: 17).
27 In the Laboratory of Visual Anthropology some of the more inspiring events emerged
spontaneously - though not accidentally. While we were doing the visual ethnographic
exercises two interesting events occurred that are concerned with what I consider an
idiotic effect (see Michael 2012a; 2012b). In one of the lectures I had invited João
Peralta, spokesperson of "Há Baixa", to present the project to my students and to
discuss with them the experience. João chose to meet with the students for this
conversation in a wooden platform on the street (a sort of stage), in Largo do Romal, that
they had constructed during the project. João's choice for this place was an act of
reflexivity: he wanted to address some of the problems and contradictions of "Há
Baixa". The structure had not only been imagined and constructed by the architecture
students, working as an exercise of architectural auto-construction 9 (Corsín Jiménez
2017), but also served as a stage for various events concerned with social architecture
and urbanism during the "Há Baixa" intervention phase.10Although it was originally
meant as a temporary structure for the project, the students decided to keep it with the
expectation that local residents would appropriate it for their own activities. That was
not how it ended up being used. By the time we were having these lessons, the
structure had been appropriated by drug users and dealers, who seemed to prefer it to
the other places in downtown where they used to meet before. The wooden platform
had not only been adapted (for example, a mattress was added) and appropriated by
these new users, but it had also been physically vandalized. These were the people that
did not count as users of the space. I do not mean that these drug users were excluded
and socially marginal a-priori: what I mean is that they were marginalized by our very
own process of researching and teaching what Baixa is. This event, however, potentially
reopened for us what counts as "social" in anthropology, just as much as in
architecture. The situation brought together an anthropology teacher and her students
trying to visually research Baixa as a social space, and architecture students trying to
learn how to do architecture differently: an architecture that wants to depart from
below and from the "social". But what counts as "social" for us? Architects and
anthropologists together seem to take for granted certain versions of the "social". For
the students of architecture, the "social" of Baixa and the people their architectural
projects address are local residents and elderly people, exposing an implicit, imagined
and idealized notion of "community" that excludes other people like drug addicts,
prostitutes, or simply mentally disturbed people who very often wander around in
Baixa. For example, one of the projects that the "Há Baixa" people mention as successful
is the tote bag project. The students had invited a social design studio from Lisbon ("A
avó veio trabalhar"11) to develop a project in situ with the elderly ladies who live in
Baixa who suffer loneliness and abandonment. The studio imagined an activity where
these ladies were put to work crafting something in which they are often very skilled,
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
90
which is embroidering, thereby producing totes with a graphic layout in common - the
"Há Baixa" logo. These totes were sold locally in the traditional shops of Baixa and the
money was given to them. This may be an interesting example of a successful social
project promoted by "Há Baixa", however, it is also revelatory of a certain kind of
"social" - the traditional residents, the elderly people, precisely in a time when those
residents are becoming fewer than ever (Baixa has been losing residents and
transforming itself in a touristic city centre). I in turn, was struggling with the fact that
anthropology students tend to reduce ethnographic observation to the making of
interviews, and the interviews they did were mostly with older people, local residents
or the owners of the more traditional shops because this is what counts in their
imagination as the proper "social" of Baixa: very few students engaged with drug
consumers and dealers, or any other people outside of these stereotypes (some of the
exceptions were one student who did the exercise with gypsies and another one who
observed dealers and drug buyers doing their business). Thus, there is also a tendency
to find idealized versions of the social in anthropology. But while we were in Baixa, the
social that did not count as social irrupted many times, offering us the opportunity to
re-open what the social is: one of these opportunities was when we were talking with
João about "Há Baixa" with the drug addicts behind us, looking at us, and at times
disturbing us by talking louder than us, making it impossible to have a lesson on the
street. This "other" social was a presence that disrupted what we were busy doing.
They were curious about us, and when the time came for students to go around and do
their exercise of ethnographic drawing, they approached some of the students, asking
who they were and what we were doing there.12
28 Another idiotic disruption emerged in one of these lessons. Usually at the end of each
of these lessons on the street, students would come back to discuss the material they
had collected and our meeting point was on the stairs in Praça do Comércio, facing S.
Bartolomeu church. In one of those occasions there was a very drunk man who
stubbornly tried to interrupt our lesson; we could barely understand what he was
saying but apparently he was curious about us and wanted to know what we were
doing. I kept trying to ignore what felt to me like an annoying disturbance, including
inconvenient obscene comments. Someone told him it was a lesson of anthropology and
he asked us what anthropology was. By that time he had taken over the class, who were
engaged in a conversation with him trying to know his life history, which was
apparently very rich. This is an example of an idiotic event: an outsider, a resisting
other - in this case, the social that does not count as social in anthropology - a social
that is not understandable, one who it is not even possible to argue with (and therefore
to consider an informant) but nevertheless a social that exists and keeps interrupting,
imposing its material existence on what we are busy doing, inviting us to reflect
precisely on those things that we take for granted while doing what we are doing. The
power of the idiot (in this case, this situation) is precisely to open up what we routinely
do and to generate the possibility to do it differently. This is an example not only of the
exposure of students to the other but of generating the other within pedagogic
practices: the idiot is what happened from a pedagogic situation designed as
unpredictable interaction, something I could not predict beforehand in a Socratic,
maieutic style, but nonetheless something that I had to care for and created the
conditions for it to occur through my pedagogic practices - something that I had to
design, in a speculative design sense (Dunne & Raby 2013) - imagining a sequence of
exercises, their rhythms, their sets of instructions and the specific spaces needed for
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
91
them. The idiot, as a speculative event, resists the traditional Socratic maieutics
exercise: although I used these events as examples to draw students’ attention to the
need to be open to what they find - that being observational and descriptive is all based
on that - the idiot as a pedagogic event is open-ended, potentially transforming what
the participants (both teacher and learners) know.
29 Although the idiot cannot be predicted beforehand, it is not just accidental. Cultivating
the coming into being of novel and unexpected events should not be seen as just
another form of conceptualism; it is a (context-dependent) pragmatics. It involves
working with the limits of the possible (in my case, from a very specific institutional
context and its limitations with even very pragmatic and mundane problems to solve)
in order to open up the real to other possibilities, which in my case was to experiment
with what a speculative, idiotic pedagogy in anthropology may be. Cultivating the
emergence of the new is an artifice. Or even, I would say, a (very special) mode of
design.
Conclusion: designing for speculative pedagogy
30 What I have described is an experiment with what could be speculative pedagogy in
anthropology, a pedagogy that generates events - a pedagogy through design, to some
extent. Events open up new possibilities, and my stance is that we need to learn how to
cultivate eventful pedagogies. While determinism in pedagogy might encompass those
situations when one conducts the teaching activities with a pre-determined path in
mind (in the sense that we may already know where students would arrive), teaching
speculatively, on the other hand, requires a different sensibility to the times and forms
of the cognitive learning process. The learning process might rather be understood as
event, able to turn those who teach into what Farías and Criado (2018) call idiotic
teachers. This, I consider, is "to be lured by the possibility of futures that are more than
a mere extension of the present" (Savransky et al. 2017: 2), that is, the possibility that
an unfavourable institutional environment for social anthropology in this particular
case can turn into a laboratory for exploring how to renovate ways of learning
anthropology. Transforming what is into what could be is a political gesture whereby
determinism is transformed into hope (Estalella 2011). What I describe is something
that we may consider belonging to the politics of the interstice (Stengers 2011: 27):
something that escapes the dualism between power vs. resistance through which
political change is usually approached, and may be key to the craft of alternative
pedagogic futures. Speculating, we are reminded, "demands the active taking of risks
that enable an exploration of the plurality of the present, one that provides resources
for resistance, one out of which unexpected events may erupt, and alternative futures
may be created" (Savransky et al.: 8).
31 It is worth mentioning, however, that speculation in a speculative design sense is not
just being sensitive to events: it is rather an effect produced through a designed object
(Dunne & Raby 2013), or through artefacts, such as prototypes, or kits of objects such as
probes that are designed to produced events (Michael 2012a, 2012b). Speculation, in
that sense, is something proactive because it is carefully designed. If seen from that
perspective, my pedagogic experiments open the following questions: how to design for
speculative pedagogy? What are the means, the forms, the techniques, the artifices, the
methods that can be deployed to produce pedagogic events? I believe that the
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
92
situations (all the sequences of exercises) and material devices (for example, imagining
a kit for speculative research and putting it into practice) that I described here -
although only half-planned these may have been - illustrate how specific speculative
pedagogic opportunities were designed for certain effects. If design (in its classic
definition) is a problem-solving activity, so were the pedagogic exercises that I
described, which emerged as very pragmatic solutions to very specific, contextual
problems. Nevertheless, much more research should be carried out to explore the
pedagogic potential of anthropology through design in order to investigate what are
the forms of a speculative pedagogy. If what we are now experiencing in the discipline,
with its recent performative turn, is a move away from a critical anthropology to a
pragmatic one, then research remains to be done into more pragmatic ways of teaching
anthropology which, I hope I have made clear with this article, is not simply reduced to
more practical, hands-on pedagogies.
BIBLIOGRAPHY
Alexander, Patrick. 2017. "Introduction: Teaching Anthropology in Uncertain Times". Teaching
Anthropology, 7(1): 1-3.
Back, Les and Nirmal Puwar. 2012. Live Methods. Oxford: Wiley-Blackwell.
Collins, Gerard Samuel, et al. 2017. Gaming anthropology: a sourcebook from #anthropologycon.
Available from https://anthropologyconorg.files.wordpress.com/2017/12/gaming-
anthropology.pdf
Comaroff, John. 2010. "The end of Anthropology, Again: On the Future of an In/Discipline".
American Anthropologist, 112(4): 524-538.
Corsín Jiménez, Alberto, Adolfo Estalella and Zoohaus. 2013. “The interior design of (free)
knowledge”, Journal of Cultural Economy, 7:4.
Corsín Jiménez, Alberto. 2017. "Auto-Construction Redux: The City as Method."Cultural
Anthropology32(3): 450–478.
Deleuze, Gilles and Felix Guattari. (1994). What is philosophy? London; New York, NY: Verso.
Diprose, Rosalyn. 2017. "Speculative research, temporality and politics".Pp. 39-51in Speculative
Research: the lure of possible futures, edited by Alex Wilkie et al. London and New York: Routledge.
Dunne, Anthony and Fionna Raby. 2013. Speculative Everything: Design, Fiction and Social Dreaming.
Cambridge, MA and London: MIT Press.
Estalella, Adolfo and Tomás S. Criado (eds). Experimental Collaborations: Ethnography through
fieldwork devices. Oxford and New York: Berghahn.
Estalella, Adolfo. 2011. Ensamblajes de esperanza: un estudio antropológico del bloguear apasionado. PhD
thesis. Universitat Oberta de Catalunya.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
93
Farías, Ignácio and Tomás S. Criado. 2018. "Co-laborations, entrapments, intraventions:
Pedagogical approaches to technical democracy in architectural design", in "Re-learning Design:
Pedagogical Experiments with STS in Design Studio Courses",Diseña, 12:228-255.
Gaspar, Andrea. 2018. “Idiotic encounters: experimenting with collaborations between
ethnography and design." Pp. 94-113 in Experimental Collaborations: Ethnography through fieldwork
devices, edited by A. Estalella and T. S. Criado. Oxford and New York: Berghahn.
Gunn, Wendy, Ton Otto and Rachel Charlotte Smith. 2013. Design Anthropology: Theory and Practice.
London and New York: Bloomsbury Academic.
Harp-Rushing, Kyle. 2017. "Teaching Uncertainty: An Introduction." Teaching Tools,Cultural
Anthropology website, Retrieved February 28, 2017 (https://culanth.org/fieldsights/1077-teaching-
uncertainty-an-introduction).
Law, John. 2004. After Method: Mess in social science research. London and New York: Routledge.
Lury, Celia and Wakeford, Nina. 2012. Inventive Methods: The happening of the social. London and
New York: Routledge.
Michael, Mike. 2012a. ‘De-signing the Object of Sociology: Toward an “Idiotic”Methodology’. The
Sociological Review 60(S1): 166–83.
———. 2012b. ‘“What Are We Busy Doing?”: Engaging the Idiot’. Science, Technology, & Human
Values 37(5): 528–54.
Murphy, Keith. 2016. "Design and Anthropology". Annual Review of Anthropology45: 433-49.
Savage, Mike. 2013. The 'social life of methods': A critical introduction. Theory, Culture & Society 30
(4), 3-21.
Savransky, Martin et al. 2017. "The lure of possible futures: on speculative research". Pp. 1-17 in
Speculative Research: the lure of possible futures.Edited by Alex Wilkie et al. London and New York:
Routledge,.
Scheld, Suzanne. 2009. "Letter writing and learning in anthropology". The Journal of Effective
Teaching 9:3, 59-69.
Stengers, Isabelle. 2010. "The care of the possible". Interview by E. Bordeleau. (K. Ladd, Trans.).
SCAPEGOAT: Architecture | Landscape | Political Economy01: 12-17, 27.
———. 2005. "The cosmopolitical proposal". Pp. 994-1003 in Making things public, edited by B.
Latour and P. Weibel. Cambridge, MA: MIT Press.
Tokumitsu, Miya. 2017. "In defense of the lecture". Retrieved February 28, 2018 (https://
jacobinmag.com/2017/02/lectures-learning-school-academia-universities-pedagogy?
platform=hootsuite)
Wilkie, Alex, et al. (eds.) 2017. Speculative Research: The lure of possible futures. London and New
York: Routledge.
NOTES
1. Some experiences concerning the use of tools for pedagogy in anthropology worth mentioning
are, for example, Suzanne Scheld's account of the use of letter writing for learning anthropology
(2009), or "gaming anthropology", a sourcebook with a series of experiences that have used
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
94
games for teaching anthropology (Collins et al. 2017), working also as an example of a design
sensibility applied to anthropology.
2. Henri Cartier-Bresson, Robert Frank, Diane Arbus, Robert Doisneau, Walker Evans, Robert
Capa, Jeff Wall, Thomas Struth, Wolfgang Tillmans, Elliott Erwitt, Stephen Shore, William
Eggleston, Martin Parr and Nan Goldin.
3. Initially the intention was that students could choose to explore either a photographer or a
filmmaker, or a designer, since one of the theoretical topics of the course is anthropology
through design, however those options did not have many followers as all the students ended up
doing their exercises on photographers only.
4. https://www.facebook.com/habaixa/
5. There had been a previous participation in this project of a group of students of our Master’s
course in social and cultural anthropology under my supervision with another colleague from
the department. The participation of these students had been quite explorative in searching how
to collaborate with architects, though they struggled to figure that out in such a short time.
Starting this contact with the undergraduates occurred to me as a way to integrate students
earlier in this project for exploring future collaborations.
6. The idiot is a conceptual persona that Isabelle Stengers (2005: 995) borrows from Deleuze &
Guattari (1994: 62). The idiot, according to Stengers, "is the one who always slows others down,
who resists the consensual way in which the situation is presented and in which emergencies
mobilize thought or action" (Stengers, 2005: 994)
7. http://ethnographicterminalia.org/
8. https://www.ebanocollective.org/
9. Auto-construction could roughly be defined as a method of architectural experimentation
usually used by grassroots guerilla architects.
10. One of these events, organized by myself and a colleague anthropologist from my
department, was a talk on open-source urbanism by Adolfo Estalella, on the 12th of July 2017.
11. Literally it means "Grandmother came to work". https://www.facebook.com/
AAvoVeioTrabalhar/
12. This does not mean that these drug addicts are excluded from the people of the project "Há
Baixa", quite the contrary, the collective seems to have good relationships with them. Before
participating in our lesson João Peralta greeted them and chatted with them for a while before
the lesson begun. However, these drug addicts were not the users they expected for this
particular place.
ABSTRACTS
This article is an exploration into what a speculative pedagogy can be. Describing a series of
pedagogic experiments at the University of Coimbra with undergraduate students in
anthropology who engaged in playful empirical exercises based on a "what if" and ludic ways of
learning (and teaching), I argue that these exercises have an eventful, speculative character in
the sense that they are not meant to instruct or provide theoretical contents about what
ethnography or anthropology is; neither are they meant to lead students in a process of
conceptual and empirical discovery that is known in advance. Rather, they were designed to
produce unpredictable effects and surprise both for those learning and those teaching.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
95
INDEX
Keywords: anthropology, speculative pedagogy, speculative research, idiotic events,
performative turn, design
AUTHOR
ANDREA GASPAR
University of Coimbra, Portugal. Department of Life Sciences, Faculty of Sciences and
Technology.
gaspar.andrea@gmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
96
Dossiê "A operacionalidade do jogo"
Ensaios (audio)visuais
(Audio)visual essays
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
97
Toys and Us: A Visual Essay on Toy
Photography
Debora Baldelli
EDITOR'S NOTE
Date received: 2018-02-23
Date accepted: 2018-08-08
AUTHOR'S NOTE
I would to thank Ines David for proofreading the first version of this article; and Lucy
Blue for proofreading its final version.
1 Toys are objects for the imagination. They encourage social development. When
playing, children are not only creating fantastic scenarios and having an adventure, but
they are also simultaneously behaving as themselves and someone else, exploring
different perspectives. Yet, toys have also been collectable items for decades. There are
communities composed of adults who like to buy toys; some enjoy playing; others take
pictures or create videos to post on social media, and most simply keep the toys as part
of the home environment. I always loved toys, especially dolls. Recently I realised how
many toys I have and I started to wonder why do I like them so much. I also realised
how many close friends also have toys in their homes. Is there something behind it or
are they just for decoration? In an interconnected world, where social development is
sometimes more virtual than real, maybe toys have also use for adults in helping them
understand the world they live in. Maybe toys help some adults keep perhaps a visual
reference of something they relate to as a person; something that tells them who they
are or who they wanted to be.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
98
This media file cannot be displayed. Please refer to the online document http://
2 journals.openedition.org/cadernosaa/1467
3 “Toy Researcher” Katriina Heljakka (2016) proposes to discuss why the manipulation of
toys in adult age is considered hobbying and not playing and why many think that play
only belongs in childhood. While children are expected to immerse themselves in play,
adults can allegedly maintain a connection to play by preserving a playful attitude (pg.
5). Attfield (1996) suggests instead of seeing toys from the perspective of commodities
one should observe how they, in use, are transformed into material culture. To
Heljakka,
play with character toys is fundamentally an imaginative and therefore creative
activity which uses backstories as inspiration but does not necessarily limit itself to
them. On the contrary, players of all ages constantly demonstrate their ability to
challenge (and even subvert) suggested backstories. Toys could be viewed as portals
to imagination that serve players of different ages and that carry in them the
potential to trigger rich forms of storytelling (imagined worlds and characters or
paracosms) in the hands (or the minds) of the players (2016:7).
4 In the article entitled “Getting started in Toy Photography”, Mom Macutay, in a section
called “The Art of Toy Photography” says the challenge of Toy Photography is to make
the toy “lifelike”, to remove the “plastic-feel” and make it more “human”. Considering
each toy has an “origin” and a story behind it you should try to create thematic
scenarios by interacting with everyday objects. This interaction, instead of being a
"solitary object play practice", becomes a social one transcending from the domestic
sphere into the realm of the public playscape when shared on social media platforms
such as Instagram, Flickr or Facebook. For example, the stuffed “monkey girl” called
@loris_the_monkey on Instagram has 1,605 people following her trips to Europe and
beyond. She also has a Facebook profile. Loris is an example of people replacing
themselves in pictures and recreating themselves as a character. This is considered
“photoplay” (Heljakka, 2016). Following specialist Katrina Heljakka´s idea, I believe
adults, and not only children, are also interested in reinterpreting and cultivating the
meaning of their toy characters by engaging in role-playing and creating new
narratives related to their (real or imagined) lives, and are further interested in how
toys can function as instruments of imagination and “autotelic play” (2016:12;15). In
this photo essay, I try to put these ideas in action by creating photos of toys that also
talk about myself.
5 This photo essay focuses on portraits of my toys and of some friends. It is an effort to
explore new ways of telling stories by using photography and autoethnography as
creative tools for investigation and artistic expression.
6 I understand Autoethnography as an autobiographical genre of writing and research
connecting the personal to the cultural and presented in a variety of forms: short
stories, poetry, fiction, novels, photographic essays and social science prose (Ellis &
Bochner 2000:739). Carolyn Ellis, an anthropologist specialized in Autoethnography,
says one of the efforts of the genre is to make social science less anonymous and more
personal, also privileging stories over analysis. The author proposes the following
question: why should we be ashamed of our work if it has therapeutic or personal
value? (Ellis & Bochner 2000:746) For Alec Grant and Laetitia Zeeman, “researchers,
including autoethnographers are well placed to write about their reflexive biographical
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
99
engagement with culture, since they are, by definition, experts by experience”,
emphasizing as well that “we all live storied lives and our stories are relational,
embodied and performative”. (2012:2).
7 In the case of Photography, it can be a starting point or a result, or both (Guran, 2000).
Photography can be exploratory and also very revealing of aspects not focused on the
moment the pictures were taken. One of its potentialities is to highlight a particular
aspect of reality that is diluted in a vast field of vision, thus explaining the uniqueness
of a scene (ibid. p.157).
8 According to anthropologist and photographer Milton Guran, the major contribution of
photography to research and anthropological discourse lies in the fact that it forces a
perception of the world different from that required by other research methods, thus
giving access to information that would hardly be obtained by others means (2000:
158).
9 I got interested in making pictures of toys during my PhD, as something to take my
mind off my thesis. I bought a few Legos to play and, realising I liked toys, a few friends
started to give me toy-related gifts. This later grew to become the subject of my
capstone project during a specialisation in Photography in 2017, which I started after
finishing writing my thesis.
10 My initial idea was to create a photographic project focusing on portraits, but I had just
moved to a new city and I did not know many people, so I started playing with toys to
try to create scenarios that could tell a story or recreate a memory. After the long tense
period of the process of writing a thesis, all I wanted was to play, to explore new ways
of being creative. It was a time for reflection, for not being tied up to deadlines, to
figure out a way to be myself again. I felt like my spirit was crushed from the PhD for
being obligated to write what I needed to be able to finish in time, to write to please my
advisor, colleague’s expectations and academic standards.
11 For creative people that enjoy writing, a PhD thesis can be just the opposite of what
they expected, a big mistake, just like the ones made by people who like kids and decide
to be paediatricians to end seeing them sick and dying all the time. I was in a constant
“language battle” between my writing in Portuguese from Brazil and the academic
writing standards of Portugal, which I did not like. My writing style, which was always
“too creative” for academic standards, were seen as inappropriate (or just bad writing)
to my advisor standards. So, I believe it is not a surprise that after I finished the PhD, I
started looking for other ways of expressing myself, to look for new artistic languages.
From the moment I ended my PhD, up until now, photography and Autoethnography
(or non-fiction creative writing) has been my method of finding my way back to being
creative and to look for other academic paths.
12 To me Toy Photography was certainly a game, a product of chance, a way to express
myself and to live the moment I was going through. Photography has a unique
relationship to chance, a mixed blessing for who wants to make photographic art
(Kelsey, 2015). To photography professor Robin Kelsey (2015), photography has also an
extraordinary capacity to represent the unpredictable dynamism of modern life. I took
every opportunity I had to create toy photography scenarios no matter where I was.
Although these pictures don´t tell a story in sequence, they all reflect moments from
my daily life, dialogues I created with friends and family depending on where I was, and
also (why not?), my hopes and desires.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
100
13 The pictures were taken in three different cities, Portimão, Lisbon and Cambridge, in
homes of friends and family. My intention was always to create something not just fun,
but funny, even by recreating a well-known scenario of a movie or by adjusting real
scenarios to the possibilities of a home. For example, the sink would become the sea for
the “male mermaid”. Most of these pictures also say a lot about myself and about the
moment I was going through when they were taken.
14 The first set of pictures (from 1 to 7), shows staged photos of well-known characters
focusing on some aspect of their own story, but using the home environment as the set.
Sarah (photo 1 and 2), from the movie Labyrinth, is in a scary labyrinth of bananas that
is full of shades in the first photo. In the second one, she is out of the record player,
meaning she was able to free herself from the idea of walking in circles related to
labyrinths. Sarah was given to me during a trip to Cambridge, where the pictures were
taken. Sarah is “me” in a way. The labyrinth is the place I felt when those pictures were
taken after finishing a PhD and trying to figure out the next step.
15 Alf (photos 3 and 4), from the TV series of the same name, is an alien who crashes his
spaceship in a suburban garage. He is known for having a bad attitude. In the first
picture, he is feeling bored and in the second he is being punished by his owner for his
bad behaviour. The story behind Alf is the out of place feeling felt by immigrants. Alf´s
owner and myself constantly talk about how we feel and the challenges of living in a
different country, which I believe are ironically portrayed by these two pictures.
16 Eleven (photos 5 and 6), the character of Stranger Things is on one of the iconic sets of
the TV series: a sofa with lights above and she is being attacked by a “Demogorgon” in
the shape of a cat in the second photo.1 This picture was created at one of my closest
friend´s home with her daughter, the owner of the doll. I proposed creating the
scenario as a game for us to try to recreate some of the series´ scenes. This friend and
her daughter were constantly giving me emotional support during the last phase of my
PhD writing just by being a great enjoyable company, taking my mind of the thesis.
17 ET (photo 7) is close to the telephone in the setting of one of his favourite lines: “ET
phone home”. This picture also follows the same feeling as Sarah´s labyrinth. Photo 8
shows what I called a “male hipster mermaid”, but it could also be seen as the Triton,
from Greek mythology. He is in the perfect setting for a being that needs to be close to
the water, which is something I can relate to. It is also a reflection of where I lived at
the time, just two blocks from a beach.
18 Pictures 9 and 10 are called “new families”. They were inspired by a photo I created for
the project Consenses Monthly challenge (Dec. 2017) called “being parents”, 2 which
shows a composition of a family of two women, a son and a cat in “their” home
environment. This picture was initially created as part of a game proposed by
Consenses whereby you interpret something (e.g. a song, a poem, a painting or a
picture). I made an interpretation of a painting of two women with a strong look, which
made me want to create a picture of an LGBT family. This family was composed of two
women and a son. The inspiration came from one of my closest friends, who recently
had a boy with her partner.
19 The last picture (11), which I call “the smurf anthropologist” showcases a smurf and a
book about gnomes. This is probably the most personal photo of this essay. The book
about gnomes is the only one I have left from my childhood and is also my favourite
book from that time. Ultimately, it is an imaginary/fantasy study about the habits and
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
101
behaviour of a particular population, which signals my interests in studying human
behaviour since childhood. I composed this picture as a self-portrait.
BIBLIOGRAPHY
Attfield, 1996, “Barbie and action man: Adult toys for the girls and boys, 1959-93; In: P. Kirkham
(ed.), The gendered object, Manchester University Press, pp. 80-89.
Ellis, Carolyn & Bochner, Arthur P., 2000, “Autoethnography, personal narrative, reflexivity:
Research as subject; In: N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research, Second
Edition; pp.733-768.
Grant, Alec & Zeeman, Laetitia, 2012, “Whose Story Is It? An Autoethnography Concerning
Narrative Identity”; In: The Qualitative Report, Volume 17, Number 36; TQR; pp.1-12.
Guran, Milton, 2000, “Fotografar para descobrir, fotografar para contar”; In: Cadernos de
Antropologia e Imagem, 10(1), pp.155-165.
Heljakka, Katrina Irja, 2016, “More than Collectors: Exploring Theorists´Hobbyists´ and Everyday
Players´ Rhetoric in Adult Play with Characer Toys”; In: Games and Culture, Sage Publications, pp.
1-20.
Kelsey, Robin, 2015, Photography and the Art of Chance, Belknap Press.
Macutay, Mon, “Getting started in Toy Photography”, no date. https://digital-photography-
school.com/getting-started-in-toy-photography/ (acessed on 23/02/18).
NOTES
1. Maria Sargaço participated in the making of the photos of Eleven.
2. For more information, please visit http://consenses.org/.
ABSTRACTS
This photo essay introduces the subject of «Toy Photography», a recent genre in photography,
where dolls and action figures “gain life” in staged photos that try to reproduce their
environment or story. In «Toy Photography» the intent is to make the toy “lifelike”, to remove
the “plastic-feel” and make it more “human”. Following Toy Researcher Katrina Heljakka´s idea, I
believe adults, and not only children, are also interested in reinterpreting and cultivating the
meaning of their toy characters by engaging in role-playing and creating new narratives related
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
102
to their (real or imagined) lives. This photo essay is an autoethnography piece and focuses on
reinterpreting the story behind the author and friend´s toys in their home environment.
AUTHOR
DEBORA BALDELLI
CRIA-ISCTE, Lisbon, Portugal
Member of the Centre for Research in Anthropology (CRIA).
imaginarydebora@gmail.com
https://cargocollective.com/deborabaldelli
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
103
Artigos
Articles
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
104
La Representación del Espacio
Misional y los Indígenas
Evangelizados en las Fotografías de
las Misiones Anglicanas y Salesianas
de Tierra del Fuego (1869-1947)
The representation of the missionary space and of indigenous evangelized people
in the photographs of the Anglican and Salesian missions of Tierra del Fuego
(1869-1947)
Ana Butto
NOTA DEL EDITOR
Data recibido: 2018-02-05
Data aceptado: 2018-05-06
NOTA DEL AUTOR
Este trabajo formó parte de mi investigación doctoral, financiada por el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Las fotografías aquí
analizadas conforman el Archivo de Fotografías Etnográficas de la Asociación de
Investigaciones Antropológicas (ARC-FOT-AIA), financiado por una beca del Fondo
Nacional de las Artes (FNA). Agradezco a Dánae Fiore por su férrea dirección, a Luis
Orquera por el apoyo institucional otorgado y a Lidia Nacuzzi por su apoyo
bibliográfico. Agradezco a María José Saletta y Marcelo Weissel por el intercambio de
ideas acerca del funcionamiento de las misiones anglicanas y salesianas, a María Paz
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
105
Martinoli por el mapa de la Imagen 1 y al personal de los archivos fotográficos
consultados.
Introducción
1 En este trabajo nos proponemos analizar y discutir la forma de representación visual
del espacio misional y de los indígenas evangelizados en las fotografías de las misiones
anglicanas y salesianas instaladas en Tierra del Fuego entre fines del siglo XIX y mitad
del siglo XX.
2 Tierra del Fuego se constituyó en una tierra prometida para los misioneros que
planeaban evangelizar y educar a los indígenas de esos lejanos territorios, a fin de
“convertirlos” a la nueva fe y “civilizarlos” e insertarlos socialmente en la nación y la
civilización occidental (Nicoletti 2008a). Los primeros en planificar la instalación de
misiones religiosas en Tierra del Fuego fueron los misioneros anglicanos, que
conformaron la South American Missionary Society e instalaron misiones en las Islas
Malvinas, el Canal Beagle y el archipiélago fueguino (Serrano 2012). La primera misión
se instaló en 1856 en la Isla Keppel (Islas Malvinas), pero las sucesivas misiones
anglicanas se instalaron en parajes donde habitaban los indígenas, como la Bahía de
Ushuaia a orillas del canal Beagle (1869-1888), la Isla Bayly, en las islas Wollaston
(1888-1892), la Bahía de Tekenika, en la isla Hoste (1892-1907) y Río Douglas, en la isla
Navarino (1907-1916) (Belza 1974; Serrano 2012). Desde su primera fundación las
misiones anglicanas persiguieron el objetivo de evangelizar a los indígenas Yámana/
Yagán en la religión anglicana y transculturarlos, transformando especialmente sus
hábitos laborales, a partir de la enseñanza de nuevos oficios como el trabajo de la
madera, la labranza de la tierra y la crianza de ovejas (Bridges 2005 [1951]). Los
misioneros de la congregación salesiana llegaron a la Argentina en 1875 y luego de la
conformación del Vicariato Apostólico de la Patagonia Septentrional y la Prefectura
apostólica de Punta Arenas comenzaron la tarea evangelizadora en forma de misiones
volantes en Patagonia Septentrional y Central y en forma de reducciones en Tierra del
Fuego y Patagonia Meridional (Nicoletti 2008). En Tierra del Fuego instalaron dos
misiones que funcionaron contemporáneamente: la misión de San Rafael, en la Isla
Dawson (1889-1911) y la misión de La Candelaria, en Río Grande (1893-1947) (Aliagas
Rojas 2000; Nicoletti 2008a; Casali 2012). Las misiones salesianas se convirtieron en un
importante “centro de concentración de indígenas [Shelk´nam y Alakalauf],
principalmente mujeres y niños supervivientes de los encuentros armados con mineros
y asesinos profesionales” (Borrero 1991: 68). En las misiones confluía la evangelización
con la enseñanza del español y de distintas labores, como trabajos de carpintería y
tejeduría, que además de cumplir con el objetivo de enseñar un oficio a los indígenas,
volvía autosustentable a la misión (Aliaga Rojas 2000).
3 Dado que las misiones “reflejaron la impronta del carisma de la orden religiosa a la que
pertenecieron, tanto en su organización, como en su proyecto misionero y en la
metodología de evangelización” (Nicoletti 2008a: 22), entendemos que las imágenes de
las distintas misiones reflejan también el distinto carácter de las sociedades misioneras
y su particular relación con los indígenas. Por ello, nos proponemos analizar
comparativamente las imágenes obtenidas en las misiones anglicanas y salesianas de
Tierra del Fuego, a fin de discutir las diferencias y similitudes en la forma de
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
106
representación del espacio misional y de los indígenas en cada uno de estos contextos
misionales.
4 Para ello, analizaremos 23 fotografías obtenidas en las misiones anglicanas, 7 obtenidas
en la Misión de Ushuaia y 16 en la Misión de Tekenika, con 28 fotografías obtenidas en
las misiones salesianas, 22 obtenidas en la Misión de La Candelaria y 6 en la Misión de
San Rafael. Enfocaremos nuestro análisis en algunos elementos de las imágenes: las
estructuras, la cantidad de indígenas fotografiados, su género, edad, vestimentas,
adornos y artefactos manipulados, a fin de analizar cómo se representaron el espacio
misional y los indígenas evangelizados en las diferentes sociedades misioneras. Así,
mediante la comparación de estos corpus de fotografías, esperamos poder analizar las
representaciones visuales de las distintas sociedades misioneras anglicanas y salesianas
instaladas en Tierra del Fuego entre fines del siglo XIX y mediados del XX.
Antecedentes sobre Fotografías de las Misiones
Religiosas
5 Las fotografías de las misiones religiosas fueron estudiadas enfatizando en el
imaginario que trasmitieron acerca del trabajo evangelizador y los indígenas fueguinos.
Para la mayoría de los autores, las imágenes obtenidas en las misiones salesianas
fueguinas subrayan la manera en que los misioneros, muchos de los cuales tomaban las
fotografías, intentaban mostrar los avances evangelizadores y civilizatorios
desarrollados por la misión (Bajas 2007; Odone y Purcell 2005; Odone y Mege 2007). De
este modo, los álbumes de fotografías realizados por los misioneros salesianos
“conforman los archivos documentales de los salesianos, y también el ‘imaginario’
acerca del indígena que se cultivaba en los años de actividad misional” (Bajas 2007: 77).
Las imágenes de las Misiones de San Rafael y de La Candelaria circularon ampliamente
en textos escolares, libros de historia y folletos turísticos, expandiendo ese imaginario
misional a públicos no especializados.
6 Encontramos que el discurso misional se centra en tres elementos que se repiten en
estas imágenes: el espacio misional, los sujetos representados (misioneros e indígenas)
y las vestimentas y adornos usados por los indígenas. El espacio misional se hace
presente en las imágenes a través del ordenado emplazamiento de la Misión de San
Rafael, su iglesia y sus pabellones, enfatizando en las líneas rectas, los planos y ejes
centrales, provocando “el efecto de un espacio-mundo acotado, restringido,
circunscrito a sus propias reglas de ordenamiento” (Odone y Mege 2007: 45). La
representación del espacio misional obedece así a una fórmula de composición que
refuerza la linealidad, el orden y la limpieza, mostrando una forma de habitar el espacio
físico y social tanto civilizante como moralizante (Odone y Purcell 2005). Pero ese
corpus de imágenes omite la representación de ciertos espacios de la misión: los
interiores de la iglesia, las casas de los indios, los interiores de escuelas y el cementerio,
que se constituyen en espacios silenciados que, a través de la ausencia y el vacío del
habitar, presagian la muerte (Idem).
7 Los sujetos incluidos en las imágenes suelen ser los misioneros y los indígenas, ya que la
mayoría de las fotografías obtenidas en las misiones muestran el contexto y los agentes
del emprendimiento misional. Sin embargo, el lugar de unos y otros es bien distinto: los
misioneros ocupan el centro de la composición, marcando una diferencia de jerarquía
con los indígenas, ubicados en los márgenes (Odone y Mege 2007). Esas imágenes
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
107
muestran indígenas fueguinos pacíficos, ordenados y limpios; subrayando los logros de
la tarea misional y justificando así su presencia en el territorio (Bajas 2005).
8 Las vestimentas y adornos de los indígenas son parte de esos logros de la
evangelización y la “civilización”, ya que la adopción de vestimenta occidental, cortes
de pelo limpios y poses ordenadas son entendidas como señales de educación (Bajas
2005). En estas imágenes los indígenas son investidos con indumentaria occidental y
presentados como seres pulcros y ordenados, demostrando así su capacidad de ser
incorporados al mundo de la civilización, el orden y el progreso (Alvarado y Mason
2005). Las imágenes evocan de esta manera la esperanza en el proceso modernizador:
los indígenas son educados como sujetos para el trabajo, para vivir en un espacio y un
tiempo ordenado (Odone y Mege 2007). Así, estas fotografías revelan el principio
ordenador de la nueva sociedad, que pretende quitar los rasgos indígenas de los
cuerpos de los mismos (Baldasarre 2007).
9 Sin embargo, estas imágenes también son entendidas como “imágenes etnográficas
falsas”, ya que intentan mostrar logros que no siempre fueron reales (Giordano 2007).
Los documentos escritos señalan los usuales problemas de los misioneros en retener a
los indígenas en las misiones, mostrando que la construcción de esas imágenes obedece
más a un deseo que a un logro real. La inclusión de las imágenes en los libros de las
misiones, salesianas y anglicanas, respondía al objetivo de pedir contribuciones o
agradecer por lo contribuido. Estas imágenes se insertan entonces en un canon de
representación europeo, que se aleja de la intención de mostrar la realidad de la misión,
para representar un proyecto de transculturación positiva (Fiore 2005).
10 Siguiendo esta última línea de investigación es que nos proponemos analizar el
conjunto de imágenes de las misiones salesianas y anglicanas, tarea que aún no ha sido
realizada por ningún investigador. Consideramos que su análisis comparado permite
aportar nueva información a la temática de la representación visual de las misiones
religiosas fueguinas.
Casos de Estudio
11 Como ya dijimos anteriormente, la misión anglicana tuvo cuatro localizaciones en
Tierra del Fuego: la misión de Ushuaia a orillas del canal Beagle (1869-1888), la misión
de Isla Bayly, en las islas Wollaston (1888-1892), la misión de Tekenika, en la isla Hoste
(1892-1907) y finalmente la misión de Río Douglas, en la isla Navarino (1907-1916)
(Belza 1974; Serrano 2012). La misión salesiana, por otro lado, tuvo dos localizaciones
contemporáneas: la misión de San Rafael en la Isla Dawson (1889-1911) y la misión de La
Candelaria en Río Grande (1893-1947) (De Agostini 1956; Aliagas Rojas 2000; Nicoletti
2008b; Casali 2012). La ubicación de estas estaciones misioneras puede consultarse en el
mapa de la Imagen 1.
12 La misión anglicana acogió principalmente a indígenas de la etnia Yámana/Yagán, que
fueron descriptos como grupos cazadores-recolectores-pescadores con movilidad
nómade canoera que ocuparon la porción sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego y las
islas del archipiélago fueguino hasta el Cabo de Hornos (Orquera y Piana 1999). Su
subsistencia se basaba en la caza de lobos marinos, la pesca de peces y la recolección de
vegetales, moluscos y huevos (Hyades y Deniker 2007 [1891]; Gusinde 1986 [1937]). Las
chozas construidas de troncos, ramas y hojas eran habitadas por una familia, que
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
108
constituía la unidad social fundamental y mantenía la ausencia de jefes y la
organización igualitaria (Gusinde 1986 [1937]; Bridges 2005 [1951]).
13 La misión salesiana, por otro lado, dedicó su tarea evangelizadora a los indígenas Shelk
´nam y Alakaluf/Kawésqar. Los Shelk´nam fueron caracterizados como una sociedad
cazadora-recolectora con movilidad nómade pedestre, que habitó el norte y centro de
la Isla Grande de Tierra del Fuego. Su subsistencia se basaba en la caza del guanaco y la
recolección de vegetales, moluscos y huevos. El guanaco proveía tanto la piel para las
capas que utilizaban como vestimenta, como para el recubrimiento de las chozas que
habitaban (Gusinde 1982 [1931]; De Agostini 1956). Las familias establecían lazos
políticos con familias de otros territorios, manteniendo la ausencia de autoridades,
aunque se tratara de una organización patriarcal (Bridges 2005 [1951]). Los Alakaluf/
Kawésqar han sido descriptos como cazadores-recolectores-pescadores con movilidad
nómade canoera que ocuparon las costas y archipiélagos fueguinos al oeste de la Isla
Grande de Tierra del Fuego (Emperaire 2002 [1958]). Su subsistencia se basaba en la
caza de lobos marinos, la pesca de peces y la recolección de vegetales y moluscos
(Idem). Los pequeños grupos familiares, que eran la unidad social fundamental,
mantenían una organización social igualitaria y habitaban en chozas, construidas con
troncos y cubiertas con piel de lobo marino (Gusinde 1991 [1974]). Los territorios
adscriptos a estas sociedades están señalados en el mapa de la Imagen 1.
Imagen 1. Mapa con los territorios etnográficos de las sociedades indígenas fueguinas y la
ubicación de las misiones anglicanas y salesianas referidas en el texto. Mapa realizado
por la autora.
14 A fin de avanzar en el conocimiento de las formas de representación visual del espacio
misional y los indígenas evangelizados en las distintas sociedades misioneras instaladas
de Tierra del Fuego, nos proponemos examinar comparativamente las imágenes
fotográficas obtenidas en las misiones anglicanas y salesianas entre 1869 y 1947 -fechas
de la instalación de la Misión Anglicana de Ushuaia y de la transformación de la Misión
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
109
de La Candelaria en escuela agrotécnica respectivamente-. Para ello, seleccionamos dos
corpus de fotografías: las fotografías de las misiones anglicanas y las fotografías de las
misiones salesianas.
15 El corpus de imágenes de las misiones anglicanas es de 23 fotografías: 7 obtenidas en la
misión de Ushuaia entre 1882 y 1883 y 16 fotografías obtenidas en la misión de
Tekenika entre 1898 y 1903. La mayoría de las fotografías de la misión anglicana de
Ushuaia (N=6) fueron obtenidas por Jean Louis Doze y Edmond Payen, dos fotógrafos
integrantes de la Misión Científica Francesa al Cabo de Hornos, encargada de registrar
el paso de Venus frente al sol, así como la geografía y los habitantes de la región
fueguina. Una única fotografía fue obtenida por un fotógrafo anónimo -perteneciente a
la orden anglicana-, la cual fue publicada en la South American missionary magazine, la
publicación periódica de la Sociedad Misionera Anglicana, y resguardada en el archivo
de la South American Missionary Society. Por otro lado, las fotografías de la misión
anglicana de Tekenika presentan el panorama inverso: la mayoría de las imágenes
(N=15) fueron obtenidas por fotógrafos anónimos -pertenecientes a la orden anglicana-
y fueron publicadas en la South American missionary magazine; en cambio solo una
imagen fue obtenida por Charles Wellington Furlong, coronel y expedicionario
estadounidense que recorrió la región fueguina entre 1907 y 1908. Así, encontramos
que el registro fotográfico de las misiones anglicanas no abarca el total de sus
localizaciones, sino solo dos de ellas.
16 El corpus fotográfico de las misiones salesianas es de 28 fotografías: 22 obtenidas en la
Misión de La Candelaria entre 1898 y 1924 y 6 fotografías obtenidas en la Misión de San
Rafael entre 1898 y 1908. La mayoría de las imágenes de la misión de La Candelaria
(N=16) fueron obtenidas por misioneros salesianos italianos que visitaron las misiones
en diferentes fechas: María Alberto De Agostini (N= 7 fotografías), José María Beauvoir
(N=6), Francisco Bocco de Petris (N=2) y Maggiorino Borgatello (N=1). A su vez, 5
fotografías son de autores anónimos y una fotografía fue obtenida por el antropólogo
chileno Alejandro Lipschutz, que formó parte de la Misión Científica Chilena para el
Estudio del Indio Fueguino en 1946, centrada en la antropología física y cultural de
estos indígenas. Por otro lado, las fotografías de la misión de San Rafael fueron
mayormente obtenidas por el misionero salesiano italiano Francisco Bocco de Petris
(N= 3), por el expedicionario estadounidense Charles Wellington Furlong (N= 2) y por un
fotógrafo anglicano desconocido (N=1).
17 En ambos corpus de fotografías incluimos todas las imágenes a las que tuvimos acceso,
hayan sido obtenidas por fotógrafos de las misiones o por fotógrafos externos, ya que
consideramos que los diferentes fotógrafos podrían aportar distintas miradas y formas
de representar el espacio misional y los indígenas fueguinos. De esta manera, la
comparación de estos corpus de fotografías nos permitirá analizar la representación de
los indígenas fueguinos en los distintos contextos misionales.
Enfoque Teórico-Metodológico
18 Desde su concepción y desarrollo como un dispositivo mecánico, la fotografía fue
pensada como una analogía directa de la realidad, que permitía captar las escenas con
objetividad (Bazin 1960), constituyéndose en un mensaje sin código, en un testimonio
de los hechos acontecidos (Kossoy 2001; Barthes 2004). Pero la objetividad fue puesta en
entredicho por quienes entendieron que todas las imágenes, incluso las técnicas, son
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
110
simbólicas, ya que son construcciones de sentido, atravesadas por relaciones de poder
(Bourdieu 1979; Flusser 1990). La concepción de la fotografía como índice tiende un
puente entre ambas perspectivas, ya que entiende a la imagen fotográfica como
resultado de la conexión física entre el referente real representado, el dispositivo
fotográfico y los sesgos del fotógrafo (Peirce 1995). El énfasis está puesto en el carácter
de huella de la imagen fotográfica, ya que sin el referente real no habría imagen,
convirtiendo a la fotografía en testimonio de esa realidad representada (Freund 2015).
19 Esa copresencia entre referente, dispositivo fotográfico y fotógrafo se da solo durante el
acto fotográfico, pero la evidencia de dicho contacto se extiende por el tiempo de vida
de la fotografía como artefacto de cultura material (Fiore y Varela 2009). Esta
concepción de la fotografía como artefacto socialmente construido permite desarrollar
una “arqueología visual” que rescate tanto la agencia del fotógrafo como la del
fotografiado (Idem). Entendemos que ese “encuentro de subjetividades” entre fotógrafo
y fotografiado está sujeto a los diferentes grados de libertad de cada uno de esos
agentes (Fiore 2005) y aunque los fotógrafos tienen mayor libertad de acción y poder de
decisión sobre la imagen, la presencia y agencia del sujeto fotografiado es
imprescindible para la captura fotográfica. Por lo tanto, es posible captar tanto la visión
del fotógrafo como la agencia del sujeto fotografiado, desde una perspectiva teórica en
la cual ambos son individuos activos durante la toma fotográfica.
20 En concordancia con esos postulados teóricos desplegamos un abordaje metodológico
sistemático que analizó grandes corpus de imágenes en tres niveles, el de la fotografía,
el de los individuos fotografiados y el de los artefactos fotografiados (esos análisis se
pueden consultar en Fiore y Varela 2009 y Butto 2016). Para este trabajo seleccionamos
un corpus de fotografías acotado y las variables de análisis más relevantes, a fin de
responder a las preguntas planteadas. En el nivel de la fotografía seleccionamos las
estructuras, en el nivel de los individuos fotografiados seleccionamos la edad, el género
y la vestimenta y en el nivel de los artefactos fotografiados, seleccionamos los adornos
y los artefactos. Respecto de las estructuras se analizó su origen, para saber si solo se
representaron los edificios misionales, o si también se incluyeron las chozas habitadas
por los indígenas en los espacios misionales (Aliaga Rojas 2000; Bridges 2005 [1951];
Casali 2012). Además de contabilizar a los indígenas fotografiados, a fin de comparar la
cantidad de indígenas incluidos en las imágenes de cada uno de los corpus de
fotografías misionales, incluimos las variables de edad y género, para conocer la
“demografía fotográfica” (Fiore y Varela 2009) en cada una de las misiones. La
vestimenta y los adornos fueron estudiados también de acuerdo con su origen, para
saber si solo se representaron las vestimentas y adornos occidentales impuestos por los
misioneros o si también fueron incluidos los elementos corporales tradicionales
indígenas. Los artefactos manipulados informan acerca de qué objetos de cultura
material fueron incluidos en estas imágenes, si solo se exhibieron los artefactos
occidentales relacionados con los oficios y trabajos desarrollados en las misiones -como
tejeduría y trabajo de la madera- o si se incluyeron algunos artefactos indígenas. De
esta manera, esperamos poder indagar en las políticas de representación seguidas en
las misiones religiosas fueguinas.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
111
Espacios Misionales e Indígenas Evangelizados
21 A fin de analizar la representación del espacio misional y de los indígenas
evangelizados en estos corpus de fotografías de las misiones anglicanas y salesianas,
centraremos el análisis en las variables de las estructuras fotografiadas, el número de
individuos fotografiados, su género, edad, vestimenta, adornos y artefactos
manipulados. Comenzaremos el análisis con las fotografías de las misiones anglicanas y
luego analizaremos las de las misiones salesianas, para finalmente en la discusión
realizar un análisis comparativo y discutir las formas de representación visual en cada
una de las misiones.
22 Al analizar las estructuras representadas en las fotografías de las misiones anglicanas,
tanto de la Misión de Ushuaia como la de Tekenika, encontramos que predominan las
estructuras occidentales (78% de 23 fotografías misionales) por sobre las indígenas
(9%). Entre esas estructuras occidentales resaltan las casas (48%) y los cercos de madera
(26%). Las pocas estructuras indígenas fotografiadas son chozas yámana/yagán (9%),
abandonadas y de las cuales solo queda el esqueleto de postes. También hay unas pocas
imágenes (13%) en las que se ven tanto casas occidentales como chozas indígenas en el
mismo espacio, evidenciando la convivencia de ambos tipos de estructuras en las
cercanías de la misión (Ver todos los datos en la Tabla 1). Esas pocas imágenes
corresponden a tomas fotográficas realizadas en la Misión de Tekenika, dos obtenidas
por fotógrafos de la South American Missionary Society en 1898 y otra obtenida por
Charles Furlong entre 1901 y 1903. En esas imágenes, una de las cuales es la Imagen
2a,se puede observar la convivencia del edificio misional principal, la “casa Stirling” -
una casa prefabricada , traída de Inglaterra- y varias casas occidentales construidas con
maderas y chapas que conviven junto a chozas triangulares y de forma de domo,
tradicionales de los Yámana/Yagán. En esta misma imagen se observa a dos varones
occidentales sentados en la playa y varios indígenas Yámana/Yagán posando frente a
algunas casas y una choza triangular. Así, estas imágenes permiten observar el
solapamiento de las estructuras occidentales e indígenas en el mismo locus del paisaje,
lo cual refiere a la posibilidad de algunos indígenas de mantener sus formas de habitar
tradicionales aunque estuvieran instalados en la misión anglicana.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
112
Imagen 2. a) Estación misionera de Tekenika, 1901-1903, Archivo de la South American
Missionary Society b) Misión La Candelaria, José María Beauvoir, 1908, Archivo del Museo
Maggiorino Borgatello.
23 Entre las estructuras representadas en las fotografías de las misiones salesianas, tanto
de la Misión de San Rafael como de La Candelaria, también predominan las estructuras
occidentales (83% de 28 fotografías de misiones salesianas) por sobre las indígenas (7%)
y en algunas imágenes no hay estructuras (10%). Entre esas estructuras occidentales
sobresalen las casas (60%), las iglesias (13%) y los cercos (6%), todos asociados a las
misiones. Una única imagen muestra un telón fotográfico, usado para obtener retratos
neutros (Butto 2016) (Ver todos los datos en la Tabla 1). Las pocas fotografías que
representan estructuras indígenas muestran paravientos shelk´nam: se trata de dos
fotografías de la misma secuencia obtenidas por el misionero salesiano José María
Beauvoir en 1908 en el Cerro de la Cruz, en las inmediaciones de la Misión de La
Candelaria. Esa imagen (Imagen 2b) muestra un grupo de diez individuos Shelk´nam y
dos perros frente a cinco paravientos pertrechados con múltiples artefactos como
cestas y bolsas de cuero. Esos paravientos constituyen estructuras asociadas a los
movimientos logísticos (Borrero 1994), lo que podría interpretarse como una señal de
libertad de movimiento dentro del territorio de la misión y de continuidad de algunas
prácticas tradicionales por parte de esos indígenas. Así, aunque en las imágenes de las
misiones salesianas no parece haber coexistencia de estructuras occidentales e
indígenas, estos paravientos en las cercanías de la misión refieren a la convivencia
entre dos mundos en la que se encontraban los indígenas fueguinos. (Ver Imagen 2)
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
113
Tabla 1. Origen y tipo de estructuras fotografiadas por misión. Tabla elaborada por la
autora
24 Respecto de la cantidad de indígenas y su género, en las 23 fotografías de las misiones
anglicanas se retrataron un total de 379 indígenas, todos Yámana/Yagán, además de 7
misioneros anglicanos. De esos indígenas fotografiados, 55% son varones (N=210), 44%
son mujeres (N=166) y en 1% de los casos no se pudo determinar el género. Por otro
lado, en las 28 fotografías de las misiones salesianas fueron retratados un total de 418
individuos indígenas, Shelk´nam y Alakaluf/Kawésqar, además de 55 misioneros
salesianos. De esos indígenas fotografiados, 53% (N=222) son mujeres, 45% (N=188) son
varones y en 2% de los casos no se pudo determinar el género de los sujetos
fotografiados. El género de los indígenas fotografiados en las misiones salesianas se
condice con la información acerca de los traslados diferenciales en favor de las mujeres
que sobrevivían a los encuentros violentos con mineros y estancieros, las cuales
llegaron a conformar un pabellón de mujeres viudas (Borrero 1991, Nicoletti 2008b).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
114
Imagen 3. a) Misión de Tekenika, 1901, Archivo de la South American Missionary Society. b)
Misión La Candelaria, fotógrafo desconocido, 1909, Archivo del Museo Maggiorino
Borgatello.
25 Respecto de la edad de esos indígenas, en las fotografías de las misiones anglicanas
predominan los adultos (60%) y los niños (29%); los jóvenes (8%), viejos (2%) y bebés
(1%) aparecen en menor cantidad. En las fotografías de las misiones salesianas también
predominan los adultos (66%) y los niños (26%) por sobre los viejos (4%), los jóvenes
(1%) y los bebés (1%). El predominio de los adultos en las fotografías podría insinuar
una “pirámide poblacional invertida” (Fiore y Varela 2009), entre cuyas causas
principales están la reducción de los territorios de caza y de recursos económicos clave,
las diferentes epidemias que contrajeron los indígenas por el contacto con los
occidentales y la desestructuración cultural que siguió a ese contacto (Borrero 1991;
Orquera y Piana 2015). Por otro lado, la fuerte presencia de niños en estas imágenes
misionales, opuesta a la alta tasa de mortalidad infantil experimentada por estos
pueblos (Borrero 1991) podría responder a los ya mencionados traslados diferenciales
en favor de las mujeres y los niños sobrevivientes a los ataques de mineros y
estancieros (Nicoletti 2008b), sobrerrepresentando así a los infantes.
26 Respecto de la vestimenta usada por los indígenas, en las fotografías de las misiones
anglicanas encontramos que los Yámana/Yagán fotografiados visten en su totalidad
vestimenta occidental: chaqueta y pantalón (49%), vestidos (32%), camisa y pollera
(11%), camisa y pantalón (6%). Unos pocos individuos (N=2) visten mantas, que pueden
ser entendidas como los vestigios de lo que alguna vez fueron prendas de vestir
occidentales (Alvarado y Mason 2005). En estas imágenes no aparecen indígenas
vistiendo sus ropas tradicionales, reflejando no solo la intención de los misioneros de
“salvar las almas” de los indígenas, sino también la de transculturarlos y cambiar sus
costumbres consideradas salvajes, entre ellas la desnudez (Bridges 2005 [1951]; Canclini
2009). Así, “los misioneros escribían contentos de que sus discípulos estuvieran
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
115
´decentemente vestidos´” (Canclini 2009: 81) con ropas que eran donadas por fieles
privados y traídas desde Valparaíso e Inglaterra (ver Imagen 3a).
Tabla 2. Tipo de vestimenta utilizada por los indígenas en las misiones anglicana y
salesiana. Tabla elaborada por la autora.
27 En las fotografías de las misiones salesianas, los indígenas retratados aparecen
vistiendo en la mayoría de los casos ropa occidental (92%): vestidos (42%), chaqueta y
pantalón (33%), uniformes (9%), camisa y pollera (4%), mantas (3%) y camisa y pantalón
(0,5%). Esa menor parte de los indígenas que visten su ropa tradicional (8%) es de la
etnia Shelk´nam, que viste capas de guanaco. Las cuatro fotografías que retratan a esos
32 individuos shelk´nam vistiendo capas de guanaco fueron obtenidas en las
inmediaciones de la Misión de La Candelaria: una fue obtenida frente a una casa de
chapa (Imagen 3b) y dos frente a varios paravientos. Cabe resaltar que tal como se
observa en la Imagen 3b esos grupos de Shelk´nam incluyen tanto personas con capas
de guanaco como personas con chaqueta y pantalón o vestido, evidenciando la
convivencia de ambos patrones de vestimenta durante el proceso evangelizador (Butto
2016).
28 Cabe resaltar que emerge un patrón de uso de la vestimenta que excede las pautas
impuestas por las misiones religiosas: los individuos Yámana/Yagán y Alakaluf/
Kawésqar adoptaron mayormente prendas occidentales y los individuos Shelk´nam
mantuvieron sus prendas tradicionales. Esta diferencia puede estar relacionada con el
mayor tiempo de contacto de los grupos canoeros con los occidentales (desde 1557 en el
caso de los Alakaluf/Kawésqar y 1624 en el caso de los Yámana/Yagán), así como a la
permeabilidad de esos grupos al contacto. Por otro lado, los Shelk´nam (contactados
por primera vez por occidentales en 1580) desplegaron estrategias de “evitación del
contacto” (Borrero 1991) y un carácter conservador y resistente a la adopción de pautas
culturales occidentales (Bridges 2005 [1951]). Estas diferentes actitudes esgrimidas
frente al avance de la sociedad occidental podría explicar el rechazo de los Shelk´nam a
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
116
las nuevas vestimentas y su aceptación, en cambio, por parte de los grupos canoeros
(Butto 2016).
Imagen 4. a) Misión Ushuaia, Edmond Doze y Jean Louis Payen, 1882-1883, Archivo del Museo
Quai Branly b) Misión La Candelaria, Bocco de Petris, 1899, Archivo del Museo Maggiorino
Borgatello.
29 Muy pocos indígenas visten adornos en las fotografías de las misiones anglicanas (1,5%,
N=6 de 379 indígenas fotografiados) y esos adornos son todos collares de cuentas
occidentales, aunque usados a la manera tradicional yámana/yagán (como se observa
en la Imagen 4a). En las fotografías de las misiones salesianas la proporción es aún
menor, solo el 0,5% (N=2) de los 418 indígenas Shelk´nam y Alakaluf/Kawésqar
fotografiados visten collares occidentales, de los cuales uno es un collar de cuentas y
otro es un collar con una medalla religiosa. Las medallas religiosas dan especialmente
cuenta de los primeros regalos dados a los indígenas, para atraerlos a la misión
(Nicoletti 2008b). (Ver Imagen 4)
30 Respecto de los artefactos, en las fotografías de las misiones anglicanas la ausencia de
artefactos manipulados por los indígenas fotografiados es casi total (98%), mientras en
las fotografías de las misiones salesianas esa ausencia es menor (81%). En las escasas
fotografías de las misiones anglicanas en las que los indígenas manipulan efectivamente
algún artefacto, éstos son mayormente occidentales: dos armas de fuego (0,5%) y dos
ollas metálicas (0,5%) y solo aparece un artefacto indígena, un remo (0,2%).
Consideramos que estas fotografías muestran una representación controlada: la
mayoría de las imágenes (como la Imagen 4a) son retratos posados y muy acartonados
en el jardín de la misión, similares a los retratos familiares de la época, donde los
indígenas fotografiados no manipulan ningún artefacto, occidental o indígena. Así, el
evidente control sobre la representación fotográfica no permite captar las actividades
cotidianas realizadas dentro del espacio misional, no solo las actividades tradicionales
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
117
indígenas sino tampoco las actividades laborales y didácticas desarrolladas por los
misioneros (Bridges 2005 [1951]; Canclini 2009; Chapman 2014).
Imagen 5. Misión Candelaria, Alberto María De Agostini, 1910-1920, Archivo del Museo
Maggiorino Borgatello.
31 En las fotografías de las misiones salesianas predominan los artefactos occidentales,
tales como los instrumentos de hilado (ruecas y husos) (11%) y los instrumentos
musicales (6%) y los artefactos indígenas fueron representados en menor proporción
pero con mayor diversidad, incluyendo arcos y flechas (0,75%), bastones (0,5%), cestas
(0,25%) y bolsas de cuero (0,25%). Encontramos que la mayor parte de las fotografías
(N= 24) subraya la representación de artefactos asociados a la enseñanza de un oficio -el
tejido, la música, etc-, subrayando el rol de las misiones como transformadoras de los
hábitos de los indígenas y asociando estas imágenes a las de una escuela. Entre ellas, la
Imagen 4b muestra un grupo de indígenas hilando con ruecas en un salón,
acompañadas de dos monjas y aunque se trata, obviamente, de una escena preparada y
posada, ésta permite visualizar las tareas que los misioneros querían mostrar acerca de
su trabajo con los indígenas. Por otro lado, las pocas imágenes (N=4) que registran
algunas actividades tradicionales indígenas como la caza, la recolección y el marisqueo
permiten inferir la persistencia de algunas prácticas culturales tradicionales. Dos de
esas imágenes forman parte de la misma secuencia, retratada por el misionero
salesiano Alberto María De Agostini entre 1910 y 1920 en las inmediaciones de la Misión
de La Candelaria y muestra, como en la Imagen 5, a dos mujeres shelk´nam -una con un
bebé en la espalda- y dos perros marisqueando en la costa, con sus palos y cestas. Así,
estas imágenes permiten ver la convivencia de algunas prácticas indígenas
tradicionales con la tarea misional de enseñanza de nuevos hábitos y costumbres.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
118
Tabla 3. Tipo de artefactos manipulados por los indígenas fotografiados en las misiones
anglicanas y salesianas. Tabla elaborada por la autora.
Discusión y Reflexiones Finales
32 Centraremos la discusión de los resultados del análisis comparativo de los corpus
fotográficos de las misiones anglicanas y salesianas en la representación de las
estructuras, los indígenas fotografiados, su género, edad, vestimentas, adornos y
artefactos. De esta manera, discutiremos cómo se representó el espacio misional y los
indígenas evangelizados en las diferentes sociedades misioneras, anglicanas y
salesianas, instaladas en Tierra del Fuego entre fines del siglo XIX y mediados del XX.
33 Respecto de las estructuras fotografiadas, encontramos que en las fotografías de las
misiones salesianas predominan las estructuras occidentales (81% de 28 fotografías)
más que en las fotografías de las misiones anglicanas, donde también son mayoría (78%
de 23 fotografías). En las fotografías de las misiones anglicanas coexisten estructuras
occidentales e indígenas en el mismo locus del paisaje, mostrando la convivencia entre
pautas culturales distintas y la tolerancia misionera ante el mantenimiento de las
formas de habitar indígenas. Algo similar muestran las fotografías de las misiones
salesianas, donde aparecen paravientos, que darían cuenta de actividades logísticas
(Borrero 1994) por parte de los indígenas de la misión de La Candelaria. Así, a pesar del
predominio en la representación de las estructuras y edificios misionales, que dan
cuenta del avance de la sociedad occidental sobre el territorio fueguino, en ambos
corpus de imágenes aparecen algunas señales de la convivencia entre misioneros e
indígenas y de la persistencia de algunas formas tradicionales de habitar el territorio.
34 En ambos corpus de fotografías aparece una cantidad similar de indígenas
fotografiados: 379 en las imágenes de las misiones anglicanas y 418 en las imágenes de
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
119
las misiones salesianas. En las fotografías de las misiones anglicanas los varones son
mayoría (55%) por sobre las mujeres (44%), mientras en las fotografías de las misiones
salesianas predominan las mujeres (53%) por sobre los varones (45%). Esta diferencia
puede deberse al hecho ya comentado de que las misiones salesianas ponían mayor
énfasis en la inserción de las mujeres y los niños sobrevivientes de ataques en sus
misiones, mientras que los anglicanos subrayaban la inserción de las familias (Nicoletti
2008a; Canclini 2009). Las edades de los indígenas representados parecen ser las mismas
en las fotografías de las misiones anglicanas y salesianas: predominan los adultos
seguidos de los niños, los jóvenes, los viejos y los bebés. Esta pequeña “demografía
fotográfica” podría revelar una “pirámide poblacional invertida”, característica de
momentos de decrecimiento poblacional, usual en los casos de pueblos indígenas en
contacto con la sociedad occidental (Fiore y Varela 2009). Por otro lado, la fuerte
presencia de los niños puede deberse al énfasis puesto por los misioneros no solo en su
búsqueda para la evangelización, sino también en su representación, a fin de mostrar a
los feligreses y contribuyentes los avances de la evangelización y educación de los
infantes indígenas (Nicoletti 2008b).
35 La vestimenta usada por los indígenas en las fotografías de las misiones anglicanas es
toda de origen occidental y ninguna vestimenta indígena fue incluida. En las fotografías
de las misiones salesianas la vestimenta usada por los indígenas es también en su gran
mayoría de origen occidental (92% de 418 indígenas fotografiados), pero algunos
indígenas fueron representados con sus vestimentas tradicionales, las capas de
guanaco. Así, las imágenes de las misiones salesianas permiten inferir cierta tolerancia
al uso de vestimenta indígena dentro de los límites de la misión, mientras que las
imágenes de las misiones anglicanas no muestran esa misma actitud. Sin embargo, dado
que las imágenes son el producto de la agencia de los fotógrafos y los fotografiados,
esas diferencias podrían también responder a las diferentes actitudes de los indígenas
instalados en cada misión. Los Shelk´nam -instalados en las misiones salesianas-
demostraron ser menos flexibles y más resistentes a los cambios introducidos por los
agentes occidentales, mientras los Yámana/Yagán -instalados en las misiones
anglicanas- adoptaron rápidamente la vestimenta occidental (Fiore y Varela 2009; Butto
2016). A su vez, los adornos son occidentales, tanto en las imágenes de las misiones
anglicanas como salesianas, mostrando que la adopción de prácticas culturales
occidentales no fue homogénea para ningún grupo indígena (Butto 2016).
36 Respecto de los artefactos, encontramos que en las fotografías de las misiones
anglicanas su ausencia es casi total (98%) y los pocos elementos fotografiados no hacen
referencia a los trabajos desarrollados por los indígenas en el espacio de la misión
(Bridges 2005 [1951]; Canclini 2009). En las fotografías de las misiones salesianas la
ausencia de artefactos es menor (81%) y la mayoría de los objetos representados
refieren al trabajo desarrollado por los indígenas en esas misiones, como los telares e
instrumentos de hilado, o a las habilidades enseñadas, como los instrumentos de
música. De esta manera, las fotografías de las misiones salesianas muestran los objetos
asociados a las tareas desarrolladas en la misión a fin de evangelizar y educar a los
indígenas, así como también las actividades que permitían la autosatisfacción de las
necesidades de la misión: el aserradero que proveía la madera, la explotación ganadera
que proveía el alimento y los telares para la confección de vestimenta y abrigo (Odone y
Mege 2007; Nicoleti 2008a).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
120
37 A pesar de que los objetivos perseguidos por ambas misiones eran los mismos: educar y
“convertir” a los indígenas a la religión anglicana o católica, encontramos algunas
diferencias claras en las formas de representar el espacio y los indígenas en las
misiones anglicanas y salesianas instaladas en Tierra del Fuego. Las fotografías de las
misiones anglicanas muestran un espacio misional dominado por estructuras
occidentales instaladas por las propias misiones, aunque también muestran la
convivencia de elementos occidentales e indígenas. Los indígenas evangelizados, por
otro lado, son representados subrayando la adopción de elementos occidentales, como
la vestimenta y los adornos, cubriendo y transformando los rasgos indígenas de sus
cuerpos. Así, las misiones anglicanas se presentan como espacios de control de los
cuerpos de los indígenas, mostrando los avances de la evangelización y la educación en
la adopción de prácticas corporales occidentales por parte de los mismos.
38 En las fotografías de las misiones salesianas, por otro lado, el espacio misional aparece
dominado por estructuras occidentales, que no coexisten con estructuras indígenas. La
representación de los indígenas evangelizados muestra cierto grado de convivencia
entre patrones culturales occidentales e indígenas, tanto en la vestimenta como en los
artefactos manipulados, mostrando la tolerancia y la persistencia de algunas prácticas
cultuales indígenas. A su vez, las fotografías de las misiones salesianas enfatizan en la
adopción de los objetos materiales occidentales, especialmente en los artefactos
asociados a las artes y los oficios. Así, la evangelización y la educación planteada por las
misiones salesianas aparecen más asociadas al control de los hábitos y las costumbres.
39 A modo de conclusión queremos subrayar que, aunque las misiones anglicanas y
salesianas compartieran el objetivo de “convertir” a los indígenas a través de la
evangelización y la educación, consideramos que ambas misiones exhiben formas
distintas de representar el trabajo misionero: las fotografías de las misiones anglicanas
centraron la representación en la transformación de los cuerpos de los indígenas,
quitando los rasgos indígenas como la desnudez, en cambio las fotografías de las
misiones salesianas parecen haberse centrado en la educación y la enseñanza de artes y
oficios, focalizando la representación en las labores y los artefactos de trabajo
adoptados por los indígenas fueguinos. Así, las imágenes producidas en las misiones
anglicanas enfatizan la representación de los indígenas de la misión como una gran
familia, asimilando esas fotografías a los retratos familiares, y las imágenes salesianas
enfatizan la representación de los indígenas de la misión como alumnos de escuela. De
esta manera, consideramos que la representación visual en las distintas misiones
responde a distintas formas de entender el propio trabajo misionero.
BIBLIOGRAFÍA
Aliaga Rojas, Fernando. 2000. La misión salesiana en Isla Dawson (1889-1911). Santiago de Chile:
Editorial Don Bosco.
Alvarado, Margarita y Peter Mason. 2005. “Fueguia Fashion”. Revista Chilena de Antropología Visual
6: 2-18.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
121
Bajas, María Paz. 2005. “Montaje del álbum fotográfico de Tierra del Fuego”. Revista Chilena de
Antropología Visual 6: 34-54.
Bajas, María Paz. 2007. “Estrategias y relatos visuales en los álbumes fotográficos de Tierra del
Fuego”. Pp. 75-88 en Fueguinos. Fotografías siglos XIX y XX. Imágenes e imaginarios del fin del mundo,
editado por M. Alvarado, C. Odone, F. Maturana y D. Fiore (eds.). Santiago de Chile: Pehuén.
Baldasarre, Carlos. 2007. “La aculturación de Ángela Loij a través de su imagen fotográfica”.
Revista Chilena de Antropología Visual 10: 109-136.
Barthes, Roland. 2004. La cámara lúcida. Buenos Aires: Editorial Paidós.
Bazin, André. 1960. “The Ontology of the Photographic Image”. Film Quarterly 13 (4): 4-9.
Belza, Juan E. 1974. En la Isla del Fuego 1. Encuentros. Buenos Aires: Publicación del Instituto de
Investigaciones Históricas de Tierra del Fuego.
Borrero, Luis Alberto. 1991. Los Shelk´nam: su evolución cultural. Buenos Aires: Búsqueda-Yuchan.
Borrero, Luis Alberto. 1994. “Arqueologia de la Patagonia”. Palimpsesto 4: 9-69.
Bourdieu, Pierre. 1979. La fotografía: un arte intermedio. México: Nueva Imagen.
Bridges, Lucas. 2005 [1951]. El último confín de la tierra. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Butto. 2016. “Huellas visuales, huellas materiales. Sitios y artefactos de indígenas patagónicos y
fueguinos registrados en las fotografías tomadas durante la conformación y expansión del
estado-nación argentino (1860-1940) y sus implicancias para el registro arqueológico”. Tesis
Doctoral no publicada. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires.
Canclini, Arnoldo. 2009. Primeros pobladores del Beagle. Las misiones evangélicas en Tierra del Fuego.
Ushuaia: Ediciones Monte Olivia.
Casali, R. 2012-13. Relaciones interétnicas en Tierra del Fuego: el rol de la misión salesiana La
Candelaria (1895-1912) en la resistencia selk`nam. En REMS nº5/6: 105-117.
Chapman, Anne. 2014. Yaganes del Cabo de Hornos. Encuentros con los europeos antes y después de
Darwin. Santiago de Chile: Pehuen.
De Agostini, Alberto. 1956. Treinta años en Tierra del Fuego. Buenos Aires: Ediciones Preuser.
Emperaire, J. 2002 [1958]. Los nómades del mar. Santiago de Chile: Lom Ediciones.
Fiore, Dánae. 2005. “Fotografía y pintura corporal en Tierra del Fuego: un encuentro de
subjetividades”. Revista Chilena de Antropología Visual 6: 55-73.
Fiore, Dánae y María L. Varela 2009. Memorias de papel. Una arqueología visual de las fotografías de
pueblos originarios fueguinos. Buenos Aires: Editorial Dunken.
Flusser, Willhelm. 1990. Hacia una filosofía de la fotografía. México: Editorial Trillas.
Freund, Giséle. 2015 [1974]. La fotografía como documento social. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.
Giordano, Mariana. 2007. “Falsas imágenes, falsas memorias en la fotografía etnográfica”. Pp.
83-96. En Imágenes perdidas: censura, olvido, descuido, editado por G. Siracusano. Buenos Aires:
Centro Argentino de Investigadores de Arte.
Gusinde, M. 1982 [1931]. Los indios de Tierra del Fuego. Los Selk'nam. I y II. Buenos Aires: CAEA.
1986 [1937]. Los indios de Tierra del Fuego. Los Yamanas. I-II-III. Buenos Aires: Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas.
1991 [1974]. Los indios de Tierra del Fuego. Los Hallakalup. I-II. Buenos Aires: CAEA.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
122
Hyades, P. y J. Deniker. 2007 [1891]. Etnografía de los indios yaghan en la Misión científica del Cabo de
Hornos 1882-1883. Punta Arenas: Ediciones universidad de Magallanes.
Kossoy, Boris. 2001. Fotografía e historia. Buenos Aires: La Marca editora.
Nicoletti, María Andrea. 2008a. Indígenas y misioneros en la Patagonia. Huellas de los salesianos en la
cultura y la religiosidad de los pueblos originarios. Buenos Aires: Ediciones Continente.
Nicoletti, María Andrea. 2008b. “El modelo reduccional salesiano en Tierra del Fuego: educar a los
`infieles”. Revista Tefros 6 (2): s/p.
Odone, Carolina y Andrea Purcell. 2005. “El espacio de la misión de San Rafael y su fotografía”.
Revista Chilena de Antropología Visual 6: 95-101.
Odone, Carolina y Pedro Mege 2007. “Imágenes misionales. Sueños y fotografías del extremo sur
Isla Dawson, Tierra del Fuego, 1889-1911” Pp 37-48 en Fueguinos. Fotografías siglos XIX y XX.
Imágenes e imaginarios del fin del mundo, editado por M. Alvarado, C. Odone, F. Maturana y D. Fiore
(eds.). Santiago de Chile: Pehuén.
Orquera, Luis y Ernesto Piana 2015 [1999]. La vida social y material de los Yámana. Ushuaia: Monte
Olivia.
Peirce, Charles. 1995 Philosophical writings of Peirce. New York: Dover Publications.
Serrano, Alberto. 2012. La casa Stirling, misiones anglicanas entre los yaganes de Tierra del Fuego.
Santiago de Chile: Museo Antropológico Martín Gusinde.
RESÚMENES
En este trabajo nos proponemos analizar y discutir la representación visual del espacio misional y
de los indígenas evangelizados en las misiones anglicanas y salesianas instaladas en Tierra del
Fuego desde fines del siglo XIX hasta mediados del XX. Para ello, analizaremos 23 fotografías de
las misiones anglicanas, 7 obtenidas en la Misión de Ushuaia y 16 en la Misión de Tekenika y 28
fotografías de las misiones salesianas, 22 obtenidas en la Misión de La Candelaria (en Río Grande)
y 6 en la Misión de San Rafael (en la Isla Dawson). Enfocaremos nuestro análisis en las
estructuras, la cantidad de indígenas fotografiados, su género, edad, vestimenta, adornos y
artefactos manipulados, a fin de evaluar cómo se representó el espacio misional y los indígenas
evangelizados en las diferentes sociedades misioneras. Así, analizaremos las representaciones
visuales de las distintas sociedades misioneras anglicanas y salesianas en Tierra del Fuego.
The article discusses the visual representation of the missionary space and of evangelized native
people in the Anglican and Salesian missions of Tierra del Fuego from the late 19 th century to the
mid 20th century. For that purpose, 23 photographs of the Anglican missions will be analyzed: 7
from the Ushuaia Mission, 16 of the Tekenika Mission and 28 photographs of the Salesian
Missions, and also 22 from La Candelaria Mission (in Rio Grande) and 6 of the San Rafael Mission
(on Dawson Island). We will focus our analysis on the structures, the number of indigenous
people photographed, their gender, age, clothing, ornaments and manipulated artifacts, in order
to assess how the missionary space and the evangelized natives were represented in the different
missionary societies.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
123
ÍNDICE
Palabras claves: fotografías, salesianos, anglicanos, indígenas, Tierra del Fuego
Keywords: photographs, Salesians, Anglicans, indigenous people, Tierra del Fuego
AUTOR
ANA BUTTO
CONICET, Buenos Aires, Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
Asociación de Investigaciones Antropológicas y Universidad Nacional de La Matanza.
anabutto@gmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
124
(Re)Montando Miyasaka: Imagens,
Reflexões e Experimentações
(Re)mounting Miyasaka: Images, Reflections and Experimentations
Rafael F. A. Bezzon
NOTA DO EDITOR
Recebido em: 2018-02-28
Aceitado em: 2018-08-13
1 Esse artigo é fruto de pesquisa realizada junto ao Arquivo Miyasaka, 1 localizado na
cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Proponho a partir desse texto refletir sobre o fazer
antropológico e sua relação com imagens, e assim trabalhar teórica e
metodologicamente uma outra forma de relacionar imagens e a experiência de pesquisa
etnográfica. Para isso selecionei, organizei e montei seis painéis fotográficos com o
intuito de elaborar uma reflexão através das fotografias a respeito da experiência com o
arquivo e tudo que o envolve, ou seja, as imagens – fotos, lembranças, narrativas
memorialísticas, entre outras – e as principais interlocutoras, D. Tereza – viúva do
fotógrafo, e Elza – filha do fotógrafo. Nesse texto, apresentarei e comentarei dois
painéis. Para seguir esse caminho, me valho do instrumental teórico e metodológico
envolvendo a antropologia e principalmente a antropologia visual, tendo como
perspectiva teórica autores da chamada “virada fenomenológica” nos estudos
antropológicos envolvendo o pensar e trabalhar com imagens. Assim, as fotografias
foram compreendidas a partir de sua significância na vida das pessoas e nos atos de
fazer da pesquisa através da experiência compartilhada entre pesquisador e
interlocutoras com as imagens.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
125
O fotógrafo, a cidade e o arquivo
Algo está acontecendo em Ribeirão Preto.
Gomes 2015: 28
2 A trajetória de Tony Miyasaka e sua família não é diferente do caminho percorrido
pelos primeiros imigrantes japoneses no estado de São Paulo. Miyasaka nasceu no dia
quatorze de novembro do ano de 1932 na província de Aichi, Japão, foi no ano de 1934,
então com dois anos de idade, que junto de sua família imigrou ao Brasil. Chegaram ao
novo país com contrato de dois anos para trabalharem na lavoura de café em uma
fazenda localizada na região de Ribeirão Preto, a noroeste da capital do estado.
3 Vindos do porto de Kobe, a família Miyasaka desembarca no porto de Santos no
primeiro dia do mês de agosto de 1934 e se instalam em uma fazenda localizada no
traçado da linha férrea Mogiana. Dentre as inúmeras fazendas que compõem a região,
está a fazenda São Martinho localizada no atual município de Pradópolis próximo à
cidade de Ribeirão Preto, onde a família se estabeleceu durante os primeiros anos de
permanência no Brasil, conforme acordo firmado com a companhia responsável pela
imigração. Após o período de vigência do contrato a família Miyasaka trabalhou em
diferentes fazendas da região, em cidades como Colina e Guatapará, sempre atuando na
lavoura mas agora não só de café, o plantio do arroz e do feijão também eram culturas
difundidas e cultivadas. Foi assim durante onze anos, até que no ano de 1945 um
acidente com Tony Miyasaka, uma picada de cobra, fez com que a família decidisse sair
do campo e se mudar para a cidade de Ribeirão Preto.
4 É no ano de 1949 que a família Miyasaka inicia as atividades do estúdio Foto Miyasaka,
localizado na região central da cidade de Ribeirão Preto, em frente à Catedral
Metropolitana de São Sebastião um dos marcos da cidade, onde o fotógrafo começa sua
carreira profissional. A fotografia entrou cedo na vida de Tony Miyasaka, seu início
como fotógrafo se deu quando tinha dezoito anos e só saiu de sua vida quando faleceu
no ano de 2004. O fotógrafo sempre esteve envolvido com a produção de imagens sejam
elas fixas ou em movimento, no ano de 1955 o estúdio Foto Miyasaka já prestava o
serviço de filmagem, além da fotografia de estúdio e reportagens sociais.
5 Sua atuação foi múltipla tendo trabalhado em praticamente todas as etapas de
produção da fotografia, iniciou sua trajetória retocando retratos junto de seu irmão
mais velho Kazuo. Após um período nessa função, não se mostrando muito talentoso
com o pincel e a tinta, assumiu a função de fotógrafo retratista para o estúdio da
família. O fotógrafo não se limitou aos trabalhos realizados dentro do estúdio, prestou
serviços fotográficos para diferentes órgãos governamentais, registrando os eventos
culturais, políticos e sociais vinculados à prefeitura, além de prestar serviços
fotográficos para a perícia da polícia. Atuou como foto repórter para jornais da cidade,
A Cidade e Diário de Notícias, e para jornais de ampla circulação como Folha de São
Paulo e Gazeta Esportiva.
6 Os anos de 1950 e 1960 são considerados os “anos dourados” de Ribeirão Preto,
principalmente pela efervescência cultural vivida na cidade com a chegada da
Faculdade de Medicina da USP, a criação do Cine Foto Clube de Ribeirão Preto, a
inauguração da Escola de Belas Artes do Bosque e da Escola de Artes Plásticas de
Ribeirão Preto, além do estabelecimento do Centro Experimental de Cinema, entre
outros empreendimentos artísticos responsáveis por movimentar, sobretudo, a
atmosfera cultural da cidade.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
126
7 Tony Miyasaka sempre esteve envolvido com os diferentes movimentos artístico-
culturais atuantes na cidade, tendo participado ativamente junto ao Cine Foto Clube de
Ribeirão Preto, popularmente conhecido como Cinefoto, atuando por um período em
sua diretoria e participando das atividades do clube entre elas os salões e concursos
fotográficos espalhados pelo país. Junto de Rubens Francisco Lucchetti, 2 Bassano
Vacarini,3 Waldemar Fantini 4 e Milton Rodrigues, 5 fundou e participou das atividades e
produções realizadas junto ao Centro Experimental de Cinema – C.E.C., produzindo
filmes experimentais e animações feitas diretamente nos negativos fílmicos, entre
outras técnicas. Os filmes produzidos pelo C.E.C. participaram de diferentes festivais e
mostras competitivas pelo Brasil e em festivais renomados como o Vº Jounées
Internacionale du Cinema d’Animation Annecy, França além de serem convidados a
participarem do Festival de Cannes, ambos em 1962,6 com o filme “Tourbillon”, 7
realizado no ano de 1961.
8 O Arquivo Miyasaka é segmentado em três grandes conjuntos de fotografias e
negativos: “Jovem Miyasaka”, compreende o período das décadas de 1950 e 1960
quando trabalhou como fotógrafo profissional e iniciou seu projeto pessoal de
documentação das transformações da cidade e suas gentes; “Fotos Aéreas”, uma das
paixões do fotógrafo; e “Fotos Artísticas”, correspondendo à sua produção feita
próximo ao fim da vida. Há mais um corpus constituindo o conjunto “Jovem Miyasaka”,
são os “Negativos Doentes” armazenados em um espaço diferente devido à condição de
deterioração dos negativos.
9 Como me contou Elza, a separação do arquivo em três corpus de fotografias e negativos
havia sido sistematizada pelo próprio fotógrafo, somente o conjunto separado
(Negativos Doentes) após a morte do fotógrafo não tomou forma através de suas mãos e
olhos. Em uma de minhas idas ao arquivo, durante uma conversa com Elza, ela se se
referiu à produção fotográfica que é objeto desta pesquisa como sendo da juventude do
fotógrafo, foi então que juntos resolvemos utilizar as alcunhas empregadas para se
referir aos corpus formando o acervo de imagens.
10 O conjunto “Jovem Miyasaka” passou por uma espécie de auto curadoria por parte do
próprio Miyasaka entre os anos de 2002 e 2004, como contou Elza. Nos dois anos que
antecederam sua morte, Miyasaka levou para sua casa os acervos de negativos – “Jovem
Miyasaka”, “Foto Aéreas” e “Fotos Artísticas” - guardados em uma de suas lojas que à
época estava encerrando suas atividades. É desse modo que o fotógrafo inicia o
processo de seleção dos negativos a serem guardados, enquanto os outros eram
descartados em um saco de lixo preto. Ao mesmo tempo, é como se o fotógrafo
realizasse um processo de auto arquivamento ao selecionar o que deveria ser ou não
guardado, definindo o primeiro ordenamento de seu acervo e uma primeira memória
sobre sua obra fotográfica.
11 O corpus “Jovem Miyasaka” é de grande importância como documento social da cidade
de Ribeirão Preto durante o período dos anos de 1950 e 1960. Devido ao seu trabalho
como fotógrafo retratista de estúdio, em seus retratos aparecem as grandes
personalidades políticas, empresariais, acadêmicas e religiosas que compunham a elite
da sociedade ribeirão-pretana. Por outro lado, sua câmera, além de registrar os eventos
ocorridos na cidade, privilegiava principalmente a região central espécie de centro da
vida da cidade no período, fartamente documentada pelo fotógrafo devido ao grande
número de negativos e fotografias encontradas em seu arquivo.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
127
12 Os assuntos giram em torno de seus prédios, ruas e avenidas, o processo de
verticalização, as obras e seus canteiros. Sua objetiva também registra alguns símbolos
das transformações por qual passava a cidade, como a chegada das grandes empresas
multinacionais, os luminosos de néon nas fachadas dos prédios, os espaços de consumo,
vitrines de lojas, postos de gasolina, escolas, a chegada da Universidade de São Paulo –
USP, e a construção de seu campus. Nesse conjunto já é notável muitas fotografias
aéreas uma das paixões do fotógrafo. Como contou D. Tereza, Miyasaka aos finais de
semana tinha por hábito alugar por algumas horas um avião ou mesmo um helicóptero
com o objetivo de fotografar a cidade, seus bairros e prédios.
O campo no arquivo, suas imagens e interlocutora(e)s
13 A experiência de pesquisa junto ao Arquivo Miyasaka se organizou através de uma
etnografia no e com arquivo, de seu espaço e a lógica que o orienta, com as imagens e
pessoas envolvidas e que estabelecem uma relação com o arquivo, as fotografias e o
fotógrafo. O arquivo é entendido como um objeto cultural em si mesmo, e por isso de
grande interesse para as pesquisas de ciências sociais, principalmente através de uma
perspectiva antropológica. Ele está localizado na antiga residência do fotógrafo e atual
morada de sua filha, Elza, e sua viúva, D. Tereza, as principais interlocutoras durante a
pesquisa, sobretudo Elza que é uma espécie de guardiã do arquivo. É uma casa-arquivo.
14 Uma das potencialidades do tratamento etnográfico para um arquivo é a possibilidade
de relação com interlocutores que estabelecem uma relação íntima com as imagens,
como bem observa a antropóloga Olivia Maria da Cunha (2005: 10). Segundo a autora,
“sair do arquivo”, buscar relações permeando o artefato imagético e os sujeitos se
relacionando com ele, ver fotos com a(o)s interlocutora(e)s e realizar entrevistas
mediadas por imagens, se tornam procedimentos necessários e interessantes para a
construção do conhecimento antropológico.
15 A etnografia do arquivo e suas imagens, envolve a criação, produção e transformações
desse espaço arquivístico, permitindo a abordagem sobre os artefatos imagéticos a
partir de suas biografias, de suas trajetórias de constituição e o contexto em que foram
produzidos. Inclui, também, as pessoas envolvidas com o arquivo seja em seu nível mais
íntimo como a viúva do fotógrafo, D. Tereza, e sua filha, Elza; ou em níveis de relação
fora do contexto familiar como Tania Registro, formada fotógrafa por Miyasaka e
historiadora na cidade de Ribeirão Preto; R. F. Lucchetti, companheiro de Centro
Experimental de Cinema e amigo de Tony; ou os membros do Cinefoto: Denis Santos e
Henrique Ravasi, que estabeleceram uma relação com o fotógrafo através do Cine Foto
Clube e por frequentarem a loja do fotógrafo ribeirão-pretano.
16 Esse movimento de saída do arquivo, de não se ater apenas à lógica arquivística desses
espaços ou somente se relacionar com os documentos e os diversos artefatos em seus
diferentes suportes, demonstra a importância das pessoas envolvidas e em relação com
o Arquivo Miyasaka para o conhecimento das narrativas e histórias sobre o fotógrafo, o
acervo e as fotografias. Esse processo é importante para pensar os arquivos como
artefatos culturais, afinal eles são resultado de tentativas de constituir e ordenar
conhecimentos realizadas tanto pelo produtor do arquivo, como nas intervenções dos
usuários e pessoas que trabalham em sua organização (Cunha 2004: 291).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
128
17 Durante uma pesquisa que se propõe realizar uma etnografia, os acontecimentos
ocorridos em campo se dão ao acaso da vida das pessoas. Após seis meses de convívio
semanal com o arquivo, as imagens e as pessoas, Elza me comunicou que durante um
ano estaria morando em Milão, Itália, por conta de seu doutorado, e assim ficaria
sozinho e com amplo acesso à casa e ao arquivo. Foram aproximadamente onze meses
me relacionando unicamente com as ampliações e negativos fotográficos de Miyasaka,
sendo atacado e afetado quando em contato com essas imagens. Algumas delas, agiam
como se capturassem meu olhar e faziam com que eu as olhasse por mais tempo.
18 Assim, continuei a proposta de relação com o arquivo e suas imagens seguindo a
perspectiva fenomenológica, privilegiando a experiência e os afetos vividos com as
imagens (Edwards 2002: 70; 2011: 185; Barthes 2011: 30) ao invés de descrições
envolvendo apenas os conteúdos das imagens. A postura perante as fotos, devido às
circunstâncias da pesquisa, era de se comprometer com o afeto uma espécie de força
que emanava e estabelecia uma relação com o observador, afinal, assim como Roland
Barthes, “[...] me interessava pela Fotografia por “sentimento”; eu queria aprofundá-la,
não como uma questão, um tema, mas como uma ferida: vejo, sinto, portanto, olho e
penso. (Barthes 2011: 31)”.
19 Conforme as pastas analógicas e digitais eram abertas as fotografias ali guardadas eram
animadas, iluminadas e elas, por sua vez, também animavam e iluminavam o
observador, despertando a imaginação e a memória através do afeto estabelecido com a
imagem. Foi o que se passou quando estava olhando algumas imagens digitalizadas, que
também fazem parte do acervo de fotografias do Arquivo Público e Histórico de
Ribeirão Preto e que foram incorporadas por Elza ao Acervo de fotografias e negativos
de Tony Miyasaka, era uma fotografia diferente das que compunham o conjunto do qual
fazia parte. Eram três corpos seminus alinhados, e é o fato de a foto ter sido produzida
durante um momento de intimidade dos garotos que inquieta, incomoda e traz uma
força diferente a essa imagem. Cada corpo está emoldurado por um batente de madeira,
há água escorrendo pelas matérias de músculo, sangue e pele, três corpos de jovens
garotos – Imagem 01.
20 Como nos lembra “Susan Sontag (2004: 25) [...] Fotografar pessoas é violá-las, ao vê-las
como elas nunca se veem, ao ter delas um conhecimento que elas nunca podem ter;
transforma pessoas em objetos que podem ser simbolicamente possuídos. [...]”, o rosto
de um dos garotos encara a lente do fotógrafo, há nele uma expressão de agressividade,
de contrariedade pela presença do fotógrafo durante o momento de seu banho e de
realização da fotografia. Essa foi uma das primeiras fotografias de Miyasaka que
demonstraram essa potência de ataque, de incomodar e fazer refletir, a partir desse
encontro foi possível olhar para esse conjunto de imagens e estabelecer uma leitura
através desses rostos cheios de força que ultrapassam os limites da imagem e invadem o
contracampo. – A imagem referida também compõe o Painel III (Imagem 04), que
intitulei de: “Rostos”.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
129
Imagem 01 - Garotos durante o banho, no Parque Infantil Peixe Abbade, conhecido como
Parque Infantil do Barracão. Autor da fotografia Tony Miyasaka. Ano de 1961. A imagem
apresenta essa coloração devido à ação do tempo, a imagem foi escaneada direto da cópia
em papel (Fonte: Arquivo Público e Histórico de Ribeirão Preto | Acervo de fotografias e
negativos de Tony Miyasaka – Arquivo Miyasaka).
21 As fotos, assim como as pessoas, também podem ser entendidas como interlocutoras. A
antropóloga inglesa Marilyn Strathern, refletindo sobre as relações estabelecidas em
campo e sua efetividade retoma uma concepção de Alfred Gell para analisar a agência
de objetos em contexto etnográfico, nas palavras da autora: “[...] O agente faz os
eventos acontecerem. A arte, segundo ele, pode ser o ator ou pode sofrer a ação, ser
agente ou paciente, num campo de agentes e pacientes que assumem formas diversas e
têm efeitos diversos uns sobre os outros. [...] (Strathern 2014: 362)”.
22 O acervo de Miyasaka é composto por diversas imagens se emaranhando entre si:
fotografias analógicas e digitais, narrativas envolvendo a construção do arquivo, a
história de vida do fotógrafo, as lembranças, memórias e histórias evocadas, também
entendidas como imagens. Miriam Moreira Leite exemplifica bem essas relações entre
fotografias, memórias e imagens, segundo a autora: “[...] as fotografias poderiam ser
comparadas a imagens armazenadas na memória, enquanto as imagens lembradas são
resíduos substituíveis das experiências contínuas. Em muitos casos, lembranças das
fotografias substituem lembranças de pessoas ou acontecimentos [...] (Leite 1993: 145)”.
O encontro com diferentes formas imagético-expressivas me despertou para um
entendimento ante o conceito de imagem como algo amplo, ou seja, a imagem em
multiplicidades expressivas e não se apresentando apenas através dos suportes
tradicionais: a escultura, o quadro, a fotografia e o cinema.
23 Não é novidade que a fotografia, devido à sua materialidade, auxilia o pesquisador
durante a experiência de pesquisa no estabelecimento das relações com os
interlocutores. As fotografias, como nos lembra Elizabeth Edwards, “[...] são locais
privilegiados para as interações sociais ocorridas em campo. Elas facilitam o trabalho
de campo permitindo atos de amizade, troca e diplomacia, além de auxiliarem no
estabelecimento de uma comunicação compartilhada […] (Edwards 2015: 242-243)”. 8
Assim, por um lado as fotos podem ser entendidas como espaços privilegiados onde
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
130
ocorrem encontros e se formam relações envolvendo o pesquisador, as pessoas e outras
imagens. Por outro lado, as fotos devido à sua potência de animar a memória, a
lembrança e a imaginação do observador – seja ele quem for – se colocam na posição de
interlocutora da pesquisa. (Edwards 2012: 229).
24 Afinal, em todos os momentos que se estabeleceu um diálogo com a(o)s
interlocutora(e)s as fotografias se faziam presentes e olhar para elas se configurou
como uma ação compartilhada. Assim, não só de pessoas se faz uma pesquisa
etnográfica com um arquivo fotográfico, as fotos também se mostraram como
importantes interlocutoras para o desenvolvimento da pesquisa. Foi com elas e através
delas que muitas relações se formaram, afinal são objetos imagéticos imóveis congelam
determinado acontecimento da vida na forma de imagem, quando entram em contato
com o olhar do observador são animadas e animam a memória, as lembranças, a
subjetividade de quem a olha e assim permitem que novas relações se formem.
25 São esses eventos de grande significância vividos durante a experiência de campo junto
ao Arquivo Miyasaka que enuncio como “encontros fotográficos”, situações em que a
imagem fotográfica permitia aos diferentes observadores – pesquisador e
interlocutores - compartilharem a experiência de olhar para determinada foto. Nesses
momentos a imagem através do olhar do observador, pelo contato com seu corpo, faz
com que memórias, lembranças e histórias sejam evocadas e expressas, produzindo
narrativas através daquelas fotos. Durante esses acontecimentos a fotografia age e
estabelece outras relações a partir dos afetos trocados entre ela (a foto) e os
observadores, produzindo efeitos através da relação estabelecida.
26 É o que se passa, por exemplo, quando em um dos encontros com Elza vimos uma
fotografia que retratava um prédio inacabado, em construção, se apresentando como se
fosse um esqueleto composto de metal e concreto – Imagem 02. Foi então, que Elza
começou a contar sobre o hábito de Miyasaka de andar pela cidade fotografando e
documentando a construção de diferentes prédios. Era, como contou, uma espécie de
obsessão fotografar esses esqueletos-urbanos. É durante esse evento, a princípio sem
muita importância, que se deu as condições para o estabelecimento de uma linha de
leitura para as imagens do arquivo e posteriormente a montagem de um dos painéis
que compõe o conjunto de experimentações com as fotos. Me refiro ao Painel II
(Imagem 03), “Esqueletos-Urbanos.
27 Proponho, portanto, analisar as imagens não apenas pensando através de seus
conteúdos semióticos, essenciais para que sejam entendidas em seu contexto de
produção e leitura, mas pensá-las por meio dos efeitos e afetos produzidos e
vivenciados durante o contato com as fotos, momento que intitulo de “encontros
fotográficos”. Situações que permitiram o estabelecimento de diferentes relações com
as pessoas emaranhadas com o Arquivo Miyasaka, a trajetória do fotógrafo e as
fotografias. Assim, as fotos podem ser entendidas e analisadas em toda sua potência
como agentes e interlocutores da pesquisa, permitindo a realização de experimentações
com as fotografias, construídas a partir da experiência compartilhada junto à essas
imagens e a(o)s interlocutora(e)s. Afinal, as fotos e as imagens de uma maneira geral
são produzidas para significar através das ações sociais envolvendo diferentes situações
perceptivas, como nos lembra a antropóloga inglesa Elizabeth Edwards (2012: 228).
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
131
Imagem 02 – Prédio em construção na cidade de Ribeirão Preto, região central. Autor da
fotografia: Tony Miyasaka, provavelmente no ano de 1959. A imagem foi digitalizada direto
do negativo e positivada através do Photoshop. (Fonte: Acervo de Fotografia e Negativos
de Tony Miyasaka – Arquivo Miyasaka).
Olhar, selecionar, montar e experimentar com imagens
28 Algumas fotografias também podem ser entendidas, dessa maneira, como
interlocutoras da pesquisa estabelecendo relações e possibilitando que novas relações
sejam forjadas durante os atos de fazer da pesquisa. Elas atuam como gatilhos para que
essas situações, os “encontros fotográficos”, se mostrem ao pesquisador e produzam
afetos e efeitos de grande significância para a experiência de pesquisa. Esses efeitos
reverberam nas escolhas dos caminhos escolhidos e percorridos durante a trajetória de
relação com o arquivo, os interlocutores e as imagens e que se mostram durante a
imersão no segundo campo, o da escrita.
29 A etnografia impõe alguns desafios para os pesquisadores e autores que escolhem por
seguirem seu caminho, como nos lembra Marilyn Strathern ela cria um segundo campo.
Esse outro campo é o momento da escrita etnográfica, que só tem êxito se conseguir
recriar no texto os efeitos gerados no pesquisador durante a experiência de pesquisa de
campo (Strathern 2014: 346). A autora defende que o processo de imersão em campo
não ocorra apenas durante a pesquisa empírica, ou seja, a experiência propriamente
vivida com o arquivo, as fotografias e os interlocutores. É necessário também a imersão
no segundo campo, o momento da escrita quando as análises e reflexões das
experiências vividas são rememoradas, refletidas e complexificadas.
30 Só assim é possível ocorrer o “momento etnográfico”, quando, nas palavras da
antropóloga inglesa, “[...] uma relação que junta o que é entendido (que é analisado no
momento da observação) à necessidade de entender (o que é observado no momento da
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
132
análise). [...] (Strathern 2014: 350)”. Por se tratar de uma pesquisa com um arquivo
fotográfico, penso ser interessante tentar recriar esses efeitos não só através do texto,
mas se valendo das imagens e assim refletindo e experimentando com elas através da
construção de painéis fotográficos.
31 A seleção realizada durante a pesquisa é composta de trezentas imagens de um
universo de aproximadamente três mil fotografias. Foram selecionadas e apresentadas
na dissertação quarenta e uma fotos, além de seis painéis. Desse conjunto, foram
impressas cento e vinte imagens de onde saíram a seleção final para montar os painéis.
Durante a escolha desse conjunto a intenção foi partir de imagens que tiveram uma
grande significância durante a realização da pesquisa, aquelas que agiram produzindo
novas relações entre os observadores e as outras imagens e com outras fotografias.
32 As fotos, o desenho, a gravura, a pintura, as imagens de uma maneira geral também
possibilitam ativar criativamente a atuação da imaginação e da subjetividade do
observador. Quando entram em contato com o corpo do observador, com seu olhar ao
olhá-la, com o tato ao manuseá-la, as imagens e especialmente as fotografias realizam
uma espécie de performance. Como nos ensina “Elizabeth Edwards (2001: 18), as [...]
Fotografias tem uma qualidade performática, um tom afetivo, uma relação com o
observador, uma fenomenologia não apenas do conteúdo, mas como objetos sociais
ativos projetando e se movendo entre outros tempos e espaços. [...]”. Assim as
fotografias permitem ao observador aceder à possibilidade de, através de sua própria
leitura da imagem e das informações que a envolvem, criar ficções em torno de suas
tramas (Kossoy 2009: 48).
33 Desse modo, ao refletir durante o segundo campo (da escrita) sobre esses “encontros
fotográficos” me pareceu interessante recriar esses momentos através das imagens,
portanto ao montar os painéis no formato proposto parto da perspectiva de que as
imagens têm a potência e a qualidade de terem uma vida própria. Como nos ensina
Etienne Samain, ao
[...] admitirmos, deste modo, que toda imagem pertence à grande família dos
fenômenos, não poderemos mais equiparar uma imagem a uma bola de sinuca ou a
um prego que a tábua engole quando, nela, o martelo bate. Sem chegar a ser um
sujeito, a imagem é muito mais que um objeto: ela é o lugar de um processo vivo, ela
participa de um sistema de pensamento. A imagem é pensante. (Samain 2012: 158).
34 A imagem como participante de um sistema de pensamento está intimamente ligada à
vida cotidiana das pessoas. Pensamos muitas vezes a partir das imagens e com as
imagens, é só rememorarmos a importância que a visão assumiu no ocidente como
órgão do conhecimento e o fato de utilizarmos diferentes metáforas reiteram essa
posição, como por exemplo: “É um homem de visão”. Afora os problemas de hierarquia
entre os diferentes sentidos que essa posição legada à visão acarreta – e que não é
objeto desse artigo –, atualmente a imagem se impôs com muita força em nosso
cotidiano, habitando as diferentes instâncias que o compõe seja no cenário político,
estético, técnico e nas ciências sociais, principalmente na antropologia, a partir da
década de 1980.
35 O Filósofo e historiador das artes e das imagens Georges Didi-Huberman ao refletir
sobre uma questão colocada por Immanuel Kant: “[...] Que é orientar-se no
pensamento? [...] (Didi-Huberman 2012: 209)”, aponta que a imagem estendeu tanto seu
território de ação que nos dias de hoje é difícil pensar sem orientar-se através de
imagens. Dessa maneira, é como se elas estivessem onipresentes na construção de
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
133
reflexões acerca dos acontecimentos do mundo, assim pensar através e com as imagens
se torna uma experiência interessante, afinal como nos ensinou Samain (2012: 158) a
imagem é pensante.
36 Portanto, proponho realizar, através do conjunto de imagens selecionadas durante o
processo de imersão com o arquivo, as fotografias e os interlocutores e junto das
reflexões e análises produzidas durante o segundo campo, uma “experiência de
pensamento” com e através das fotografias. Para refletir e tentar recriar os efeitos e
afetos compartilhados durante a pesquisa a partir das próprias imagens fotográficas,
afinal elas pensam, fazem pensar, agem, iluminam e animam seus observadores.
37 O experimento que proponho realizar se baseia em uma seleção de imagens, a partir da
desmontagem dessas fotografias de seus lugares de exibição e guarda no Arquivo
Miyasaka, para uma (re)montagem, um novo ordenamento de visualização e leitura
proposto por mim e inspirado nos painéis produzidos por Aby Warburg (1866-1929). O
antropólogo e historiador da arte alemão realizou diferentes pesquisas, entre elas
investiu bastante conhecimento e empenho para organizar uma grande “biblioteca
elíptica” em sua cidade natal, Hamburgo, em sua fachada Warburg gravou a palavra
Mnemosyne que em grego significa a personificação da memória e a mãe das nove
musas. Para o historiador-antropólogo a palavra, como nos lembra “Samain (2011: 33)
[...] representava, ao mesmo tempo, uma organização sui generis do conhecimento e
todo um programa intelectual.”.
38 De outra forma, Mnemosyne também deu nome a outro empreendimento, outra grande
obra que Warburg investia tempo e conhecimento. Desde o ano de 1924 (Samain 2011:
36), o historiador-antropólogo dedicou grande parte de seus esforços para a construção
do “Atlas de imagens. Mnemosyne [DerBilderatlas Mnemosyne] (Samain 2011: 36)”. O
Atlas era composto de setenta e nove painéis reunindo por volta de novecentas imagens
em diferentes suportes, a maioria eram fotografias em preto e branco de obras
artísticas de diferentes tipos: escultura, pintura, gravura, mas também jornais, selos,
moedas etc. Os painéis eram construídos utilizando reproduções de outras imagens, nas
palavras de Etienne Samain
[...] Warburg organizava, montava (não necessariamente numa ordem linear de
leitura, mas à maneira de peças capazes de serem deslocadas a todo o momento)
sobre painéis de madeira (de 1,5m x 2m), recobertos de tecido preto. Instalava,
então, esses quadros de imagens nas ilhargas de sua biblioteca elíptica (foto 3 e foto
4) para que as imagens pudessem entrar em diálogo, se pensar entre si, no tempo e
no espaço de uma longa história cultural ocidental; para que pudessem também ser
observadas, relacionadas, confrontadas na grande arquitetura dos tempos e das
memórias humanas. (Samain 2011: 35)
39 Os painéis eram montados em um fundo de pano preto se configurando como grandes
negativos, ou seja, se constituem como novas imagens produzidos através das imagens
ali montadas seguindo uma relação de vizinhança entre elas. Os painéis permitem e ao
mesmo tempo propõem ao observador realizar “[...] uma viagem, melhor dizendo,
viagens. (Samain 2011: 39)”, deslocamentos e percursos com e através das imagens
selecionadas e montadas procurando expressar as interlocuções e relações entre elas e
outras imagens.
40 O conjunto de fotografias selecionadas e (re)montadas compondo os painéis procuram
demonstrar a multiplicidade temática, o experimentalismo e a trajetória do fotógrafo
ribeirão-pretano, entre outros aspectos, assim como os efeitos e afetos vividos com as
fotos durante os “encontros fotográficos”. Os painéis têm por objetivo permitir ao
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
134
observador realizar essas viagens a que Etienne Samain se refere, possibilitando a
construção de diferentes leituras para as montagens.
Imagem 03 - Painel II | “Esqueletos Urbanos”, montagem, autoria de Rafael Bezzon, 2017.
Comentários finais
41 Miyasaka teve sua trajetória de vida intensamente emaranhada e relacionada com o
desenvolvimento e a popularização da fotografia em Ribeirão Preto durante toda a
segunda metade do século XX. O fotógrafo, principalmente durante os anos de 1950 e
1960, foi um observador privilegiado das transformações vividas pela cidade, seus
espaços, a paisagem e seus habitantes. Pensando em formas de expressar minha
experiência de pesquisa com esse acervo e que não se limitasse apenas ao texto, escolhi
montar seis painéis - dos quais aqui apresento dois - compostos por fotografias do
Arquivo Miyasaka em especial as do conjunto “Jovem Miyasaka”, em sua maioria de
autoria do fotógrafo, há algumas: fotos de família e do próprio Miyasaka que foram
realizadas por outros fotógrafos não identificados.
42 Os painéis foram pensados e compostos procurando expressar os momentos de grande
significância, os “encontros fotográficos”, vivenciados durante a pesquisa. As
montagens tematizam seis eixos relacionais através dos quais construí minhas
reflexões e interpretações do conjunto “Jovem Miyasaka”, são eles: painel I |“Trajetória
do fotógrafo”; Painel II | “Esqueletos Urbanos”; Painel III | “Rosto”; Painel IV | “Olhares
para a cidade”; Painel V | “O centro”; e Painel VI | “Plantas e molduras”. Nesse artigo,
apresentarei e comentarei apenas os painéis II e III.
43 O Painel II | “Esqueletos Urbanos” (Imagem 03), é resultado de uma conversa com Elza
quando falávamos sobre uma espécie de obsessão de Miyasaka em documentar os
prédios em construção, afinal há em seu acervo muitas imagens registrando esses
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
135
esqueletos. Ao mesmo tempo que Miyasaka propõe esse olhar documental, ele não
exclui um olhar artístico e atento aos pormenores e curiosidades compondo essas
massas de concreto e aço. Durante a conversa, Elza observa que seu pai era quase um
arquiteto, devido à predileção pelas fotos tematizando a arquitetura da cidade. Foi a
partir desse comentário que me atentei para essa característica presente em suas
imagens: o olhar para a arquitetura da cidade, suas pontes, a verticalização da região
central, os teatros e cinemas, escolas e órgãos públicos. Assim foi constituída a segunda
linha de leitura e relação com o corpus “Jovem Miyasaka” através dos “esqueletos
urbanos”, estetizados e eternizados pela câmera de Miyasaka.
44 Já o Painel III | “Rosto”, é composto por uma seleção de imagens tendo no rosto seu
elemento de grande significância. Foi durante o encontro com a foto dos três garotos
nus tomando banho que se mostrou latente a presença desses rostos ultrapassando a
imagem e atingindo o contracampo, o observador. Seja o rosto do próprio fotógrafo
com o qual me relaciono a partir das imagens e narrativas, seja o rosto como elemento
de composição em suas fotografias. Ou seja, como observa o escritor portenho “Alan
Pauls (2011: 8) [...] O rosto é o fenômeno por excelência, o único objeto de adoração para
o qual não há defesa nem remédio. [...]”. Por outro lado, uma grande parte das imagens
compondo o “Jovem Miyasaka” são retratos fotográficos realizados no estúdio,
portanto os rostos encontrados nas fotos e construídos através das narrativas evocadas
do contato com essas imagens, permitiram o estabelecimento de outra linha de leitura
para esse conjunto de imagens.
Imagem 04 - Painel III | “Rosto”, montagem, autoria de Rafael Bezzon, 2017.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
136
BIBLIOGRAFIA
Barthes, Roland. 2011. A câmara clara: nota sobre a fotografia. 3. Edição, Rio de Janeiro: Nova
Fronteira.
Cunha, Olívia M. G. da. 2004. “Tempo imperfeito: uma etnografia no arquivo”. Mana, Rio de
Janeiro, v.10, n.2: 287-322. Disponível em < http://www.scielo.br/pdf/mana/v10n2/25162.pdf >.
_____. 2005. “Do ponto de vista de quem? Diálogos, olhares e etnografias dos/nos arquivos”.
Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n.36: 7-32. Disponível em < http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/
index.php/reh/article/view/2242 >.
Didi-huberman, Georges. 2012. “Quando as imagens tocam o real” Pós: Belo Horizonte v.2, n.4:
204-219. Disponível em < https://www.eba.ufmg.br/revistapos/index.php/pos/article/view/60 >.
Edwards, Elizabeth. 2001. “Photography and the Performance of History” Visual History n.27:
15-29. Disponível em < https://www.jstor.org/stable/41056667?seq=1#page_scan_tab_contents >.
_____. 2002. “Material beings: objecthood and ethnographic photographs”. Visual Studies, vol.17,
n.1:67-75. Disponível em < https://www.nyu.edu/classes/bkg/methods/edwards.pdf >.
_____. 2012. “Objects of affect: Photography beyond the image” Annual Review of Anthropology n.
41: 221-234. Disponível em < https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-
anthro-092611-145708 >.
_____. 2015. “Anthropology and Photography: A long history of knowledge and affect”.
Photographies, vol.8, n.3: 235-252. Disponível em < https://www.academia.edu/22664994/
Anthropology_and_Photography_A_long_history_of_knowledge_and_affect >.
Gomes, Paulo E. S. 2015. O Cinema no Século, edição dos textos e notas C. A. Calil e A. Mendes. 1.
Edição, São Paulo: Companhia das Letras.
Kossoy, Boris. 2009. Realidades e Ficções na Trama Fotográfica. São Paulo: Ateliê Editorial.
Leite, Miriam M. 1993. Retratos de Família: leitura da fotografia histórica. São Paulo: EDUSP.
Pauls, Alan. 2011. História do cabelo. 1. Edição, São Paulo: Cosac Naify.
Samain, Etienne. 2011. “As “Mnemosyne(s)” de Aby Warburg: Entre Antropologia, Imagens e
Arte” Revista Poiésis n 17: 29-51. Disponível em < http://www.poiesis.uff.br/PDF/poiesis17/
Poiesis_17_EDI_Mnemosyne.pdf >.
_____. 2012. “As peles da fotografia: fenômeno, memória/arquivo, desejo” Visualidades v.10, n.1:
151-164. Disponível em < https://www.revistas.ufg.br/VISUAL/article/viewFile/23089/13635 >.
Sontag, Susan. 2004. Sobre fotografia. 1. Edição, São Paulo: Companhia das Letras.
Strathern, Marilyn. 2014. “O efeito etnográfico” Pp. 345-405 em O efeito etnográfico e outros ensaios
editado por Florencia Ferrari. São Paulo: Cosac Naify.
NOTAS
1. Realizada junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unesp/FCLAr,
intitulada: “O Japonês da Gravata Borboleta – Trajetória, Arquivo e Imagem: a experiência de
pesquisa no e com o Arquivo Miyasaka”.
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
137
2. Escritor, roteirista e quadrinista, tendo trabalhado como roteirista de José Mojica Marins e
Ivan Cardoso, com esse último ganhou o Kikito de ouro no festival de Gramado pelo roteiro de “O
Escorpião Escarlate”, 1990. Leva alcunha de “Papa do Pulp nacional”, gênero literário voltado
para histórias de ficção envolvendo temas policiais, de horror, vampiros etc.
3. Importante artista plástico, atuou na cidade de São Paulo e no interior paulista. Foi
responsável pela criação do Teatro Brasileiro de Comédia – TBC, trabalhando como cenógrafo de
diversas peças entre elas as de Cacilda Becker.
4. Fotógrafo, amigo de Miyasaka e membro do Cine Foto Clube de Ribeirão Preto.
5. Técnico de som da extinta rádio PRA-7, a primeira rádio do interior paulista.
6. Essas informações foram fornecidas por R.F. Lucchetti e comprovadas com notícias publicadas
em jornais da época, como a edição do Estado de São Paulo de 19/02/1962.
7. A direção é de Bassano Vaccarini e Rubens Francisco Luchetti, enquanto a direção de fotografia
é de Tony Miyasaka. Fonte: http://bases.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/.
8. Todas as traduções são de minha autoria.
RESUMOS
A partir da experiência etnográfica vivida junto a um arquivo fotográfico, suas imagens e
interlocutores, proponho pensar, refletir e experimentar uma outra forma de trabalhar analisar e
interpretar imagens. Para isso produzi seis painéis, construídos com imagens do arquivo, que
procuram expressar as relações vividas junto às fotos, ao arquivo e aos interlocutores, além de
estabelecer linhas de leitura e relação com o acervo fotográfico.
From the ethnographic experience gained in a photographic archive, its images and
interlocutors, I propose another mode of working with, analyzing and interpreting images. The
article discusses six panels composed of photographs of the Miyasaka archive, which seek to give
expression to the relationship established with the photos, the archive and its interlocutors,
apart from suggesting possible readings and relations with the photographic collection.
ÍNDICE
Keywords: ethnography, image, photographic panels, visual anthropology
Palavras-chave: antropologia visual, etnografia, imagem, painéis fotográficos
AUTOR
RAFAEL F. A. BEZZON
UNESP, Araraquara-SP, Brasil. Núcleo de Antropologia da Imagem e da Performance (NAIP).
rafaelbezzon@gmail.com
Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 7, No 2 | 2018
Você também pode gostar
- 100 jogos para grupos: Uma abordagem psicodramática para empresas, escolas e clínicasNo Everand100 jogos para grupos: Uma abordagem psicodramática para empresas, escolas e clínicasNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (9)
- Um Mapeamento Do Conceito de JogoDocumento19 páginasUm Mapeamento Do Conceito de JogoNayra CarneiroAinda não há avaliações
- O blefe no truco como evasão da realidadeDocumento20 páginasO blefe no truco como evasão da realidadeAle KrrieriAinda não há avaliações
- Políticas da performatividade: Corpos e a produção do sensívelNo EverandPolíticas da performatividade: Corpos e a produção do sensívelNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Teoria Jogos Esportivos ColetivosDocumento16 páginasTeoria Jogos Esportivos ColetivosShmurdinho Brain NicholsAinda não há avaliações
- O estado de jogo como gerador da criação cênicaDocumento11 páginasO estado de jogo como gerador da criação cênicaSamuel GiacomelliAinda não há avaliações
- Textos Kao - Geek Aperta Start GameculturaDocumento145 páginasTextos Kao - Geek Aperta Start GameculturaKao TokioAinda não há avaliações
- A Contribuição Dos Jogos E Brincadeiras No Desenvolvimento Da AprendizagemNo EverandA Contribuição Dos Jogos E Brincadeiras No Desenvolvimento Da AprendizagemAinda não há avaliações
- O jogo, brinquedo e brincadeira: tensões conceituaisDocumento1 páginaO jogo, brinquedo e brincadeira: tensões conceituaisJoel SantosAinda não há avaliações
- Marx no fliperama: Videogames e luta de classesNo EverandMarx no fliperama: Videogames e luta de classesNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (5)
- Aula 1 - Jogos e CulturaDocumento14 páginasAula 1 - Jogos e Culturalariessaferreira123Ainda não há avaliações
- A essência da ludicidadeDocumento9 páginasA essência da ludicidadeMichelly SantosAinda não há avaliações
- Jogos Teatrais na Sala de AulaDocumento9 páginasJogos Teatrais na Sala de AulaAdriana Brisa DemioAinda não há avaliações
- Homo Ludens - ResumoDocumento6 páginasHomo Ludens - ResumoVitor Rodrigues Pujol100% (1)
- JCAP. Ogos e ALFABETIZAÇÃO-112-131Documento20 páginasJCAP. Ogos e ALFABETIZAÇÃO-112-131Edna SilvaAinda não há avaliações
- Teorias sobre o jogoDocumento17 páginasTeorias sobre o jogoFernanda RamosAinda não há avaliações
- A Importancia Da Diferenca Entre Jogo e Brincadeira 13Documento8 páginasA Importancia Da Diferenca Entre Jogo e Brincadeira 13Di BrúmmelAinda não há avaliações
- Modo Operativo AND: Potência Clínico-Política Entre o Play e A Realidade Macerata SadeDocumento13 páginasModo Operativo AND: Potência Clínico-Política Entre o Play e A Realidade Macerata SadeIacã Machado MacerataAinda não há avaliações
- A oficina começa: instruções iniciaisDocumento31 páginasA oficina começa: instruções iniciaisBrunaAinda não há avaliações
- Curso de Extensão sobre Aspectos Lúdicos e Jogos na PedagogiaDocumento42 páginasCurso de Extensão sobre Aspectos Lúdicos e Jogos na PedagogiaViviane AraujoAinda não há avaliações
- Construindo narrativas para marcas com tarô e jogos teatraisDocumento13 páginasConstruindo narrativas para marcas com tarô e jogos teatraisLourdesCannitoAinda não há avaliações
- Jogos Tradicionais: Diálogo e DiversidadeDocumento18 páginasJogos Tradicionais: Diálogo e DiversidadeLucianaAinda não há avaliações
- SITUAÇÃO LÚDICA - ETadeu Dic-Crit-EducDocumento4 páginasSITUAÇÃO LÚDICA - ETadeu Dic-Crit-EducIgor TolentinoAinda não há avaliações
- O Video Game Como Linguagem ExpressivaDocumento8 páginasO Video Game Como Linguagem ExpressivaJulia StateriAinda não há avaliações
- PLANO DE ESTUDO -conteúdos-atividades 2 BIMESTREDocumento19 páginasPLANO DE ESTUDO -conteúdos-atividades 2 BIMESTREJardele NogueiraAinda não há avaliações
- 2 OjogoeaeducacaoinfantilDocumento24 páginas2 Ojogoeaeducacaoinfantilelmanel1234Ainda não há avaliações
- Aula Game AudioDocumento41 páginasAula Game AudioLeonardo PassosAinda não há avaliações
- Arquetipo ludiDocumento9 páginasArquetipo ludiGonzaloSosaAinda não há avaliações
- O Jogo No Teatro Do Oprimido - Artigo Helen SarapeckDocumento11 páginasO Jogo No Teatro Do Oprimido - Artigo Helen SarapeckValdez BragaAinda não há avaliações
- Relações de Gênero e Os GamesDocumento7 páginasRelações de Gênero e Os GamesAline GasotoAinda não há avaliações
- O jogo e a educação: definições e diferençasDocumento24 páginasO jogo e a educação: definições e diferençasGeísio Lima Vieira94% (16)
- O jogo e a racionalidade neoliberalDocumento4 páginasO jogo e a racionalidade neoliberalFelipe BorgesAinda não há avaliações
- Jogos E Brincadeiras Na Educação Física Escolar: Prof Bruna Santana AnastácioDocumento16 páginasJogos E Brincadeiras Na Educação Física Escolar: Prof Bruna Santana Anastáciofranciscoferreirapontesfilho6Ainda não há avaliações
- O Jogo como Conteúdo de Ensino na Educação FísicaDocumento6 páginasO Jogo como Conteúdo de Ensino na Educação Físicaprofallex4438100% (1)
- (ARTIGO) Ludocentrismo - Como e Por Que Utilizar Expressões Lúdicas Na EducaçãoDocumento12 páginas(ARTIGO) Ludocentrismo - Como e Por Que Utilizar Expressões Lúdicas Na Educaçãodmbandanna14Ainda não há avaliações
- O jogo na formação culturalDocumento7 páginasO jogo na formação culturalMayara EstrelaAinda não há avaliações
- O jogo filosófico dos caçadores de zumbisDocumento7 páginasO jogo filosófico dos caçadores de zumbisJulianopoeta MorenoAinda não há avaliações
- A GamificaçãoDocumento10 páginasA GamificaçãoIsabela Mara SilvaAinda não há avaliações
- O JogoDocumento34 páginasO JogoLuis Pedro CostaAinda não há avaliações
- Jogo e cultura na históriaDocumento6 páginasJogo e cultura na históriafERNANDAAinda não há avaliações
- A Cigarra FilosóficaDocumento1 páginaA Cigarra FilosóficaAdilsonAinda não há avaliações
- GISELE Meus Pintinhos Venham CáDocumento6 páginasGISELE Meus Pintinhos Venham CáAndre MelloAinda não há avaliações
- A cultura lúdica e o desenvolvimento infantilDocumento9 páginasA cultura lúdica e o desenvolvimento infantilFranciscoAinda não há avaliações
- REFERENCIASDocumento23 páginasREFERENCIASojustceiroAinda não há avaliações
- SLIDE - O Jogo Caillois e HuizingaDocumento28 páginasSLIDE - O Jogo Caillois e HuizingaCerlandia AguiarAinda não há avaliações
- Registro de produção de RPG para ensino da Revolução FrancesaDocumento4 páginasRegistro de produção de RPG para ensino da Revolução FrancesaAbelmon BastosAinda não há avaliações
- Revista 01.01Documento14 páginasRevista 01.01claudio lucio drumondAinda não há avaliações
- Arthur,+artigo ILINX 012 - 63 71Documento9 páginasArthur,+artigo ILINX 012 - 63 71Bruna MabhellAinda não há avaliações
- ALBUQUERQUE JR - A História em Jogo - A Atuação de Foucault No Campo Da HistoriografiaDocumento22 páginasALBUQUERQUE JR - A História em Jogo - A Atuação de Foucault No Campo Da HistoriografiaAryana CostaAinda não há avaliações
- Educacao e LudicidadeDocumento85 páginasEducacao e LudicidadePedral MP PedralAinda não há avaliações
- BROUGERE - A Criança e A Cultura LúdicaDocumento6 páginasBROUGERE - A Criança e A Cultura LúdicaSoraiaSantanaAinda não há avaliações
- Recreação e LazerDocumento67 páginasRecreação e LazersakanagejrAinda não há avaliações
- A Historia Do BrincarDocumento15 páginasA Historia Do BrincarEllis StahnkeAinda não há avaliações
- Unip - Universidade Paulista Educação A Distância Curso: PedagogiaDocumento7 páginasUnip - Universidade Paulista Educação A Distância Curso: PedagogiaMaria Luisa FreitasAinda não há avaliações
- 19020Documento16 páginas19020Moisés XavierAinda não há avaliações
- RPG concepção jogadoresDocumento18 páginasRPG concepção jogadoresRicardo AlvesAinda não há avaliações
- Governo Do Estado Do ParáDocumento6 páginasGoverno Do Estado Do Paráterrible vibeAinda não há avaliações
- Uma Nova Vida em CristoDocumento15 páginasUma Nova Vida em CristoElias Silva100% (1)
- Arte e DesenvolvimentoDocumento238 páginasArte e DesenvolvimentoSamuel SimãoAinda não há avaliações
- Diario de GratidaoDocumento2 páginasDiario de GratidaoSílvia FerreiraAinda não há avaliações
- Navarro, Federico. Metodologia Da Vegetoterapia Caractero Analítica PDFDocumento39 páginasNavarro, Federico. Metodologia Da Vegetoterapia Caractero Analítica PDFJulianoAinda não há avaliações
- Tenhotantosentimento Pessoa 151008204906 Lva1 App6891Documento2 páginasTenhotantosentimento Pessoa 151008204906 Lva1 App6891Nélio AraújoAinda não há avaliações
- O papel da Escola Secundária de Montepuez na educação ambiental da comunidadeDocumento30 páginasO papel da Escola Secundária de Montepuez na educação ambiental da comunidadeChauale Da Linda ChameAinda não há avaliações
- Caio Fábio - Resposta À CalamidadeDocumento107 páginasCaio Fábio - Resposta À CalamidadeholymarcelAinda não há avaliações
- Apresentação e Lição 1 - Pensando em ResultadosDocumento29 páginasApresentação e Lição 1 - Pensando em ResultadosTiago CaiopyerAinda não há avaliações
- Deleuze e a instauração das sensações na arteDocumento81 páginasDeleuze e a instauração das sensações na arteLa Macchina VolanteAinda não há avaliações
- Oração poderosa da prosperidadeDocumento3 páginasOração poderosa da prosperidadeMarli Valentim Do CoutoAinda não há avaliações
- 10 Trends para Seduzir Seu Melhor Amigo Penny ReidDocumento527 páginas10 Trends para Seduzir Seu Melhor Amigo Penny ReidivomarcostaAinda não há avaliações
- Vício Dos Vícios - Flávio GikovateDocumento19 páginasVício Dos Vícios - Flávio GikovateRafaelPenidoAinda não há avaliações
- Envelhecimento AtivoDocumento62 páginasEnvelhecimento AtivoFabio Lucas ChagasAinda não há avaliações
- Sueleide+Marcelo+de+Melo CorrigidoDocumento16 páginasSueleide+Marcelo+de+Melo CorrigidoPatrícia GebrimAinda não há avaliações
- CURSO DE BACHARELADO EM TEOLOGIA - CLARETIANO - Moral FundamentalDocumento88 páginasCURSO DE BACHARELADO EM TEOLOGIA - CLARETIANO - Moral FundamentalLeandro Agostinetti100% (1)
- Ensinamentos budistas básicosDocumento48 páginasEnsinamentos budistas básicosDeco Fernandes100% (1)
- Reconhecimento e redistribuição na justiça socialDocumento41 páginasReconhecimento e redistribuição na justiça socialAnabelle LagesAinda não há avaliações
- Guia Basico de Evangelismo InfantilDocumento9 páginasGuia Basico de Evangelismo InfantilHallan Ribeiro100% (2)
- Money Reiki - Reiki Do DinheiroDocumento8 páginasMoney Reiki - Reiki Do DinheiroLuciene Vieira50% (6)
- Psicoeducação - RaivaDocumento10 páginasPsicoeducação - RaivaAllana AraujoAinda não há avaliações
- Psicologi Positiva Unifor Maio 2023 AlunosDocumento168 páginasPsicologi Positiva Unifor Maio 2023 AlunosKatarina NunesAinda não há avaliações
- 1 Prova CienciasDocumento16 páginas1 Prova Cienciasmari freitasAinda não há avaliações
- Academia da Alma da Igreja Batista ItacurucáDocumento24 páginasAcademia da Alma da Igreja Batista ItacurucáSilvioOliveira100% (1)
- O que você precisa saber sobre linhas de vidaDocumento9 páginasO que você precisa saber sobre linhas de vidaDaniel Zidiričh100% (1)
- Táticas de Guerra - Daniel MastralDocumento65 páginasTáticas de Guerra - Daniel MastralGlauber GuerraAinda não há avaliações
- (Livro I) Representação Animal Na Literatura PDFDocumento211 páginas(Livro I) Representação Animal Na Literatura PDFGiseleReinaldoAinda não há avaliações
- VITULLO - As Outras Teorias Da DemocraciaDocumento144 páginasVITULLO - As Outras Teorias Da DemocraciaGabriel Eduardo VitulloAinda não há avaliações
- 2 - Ritual Solsticio VeraoDocumento10 páginas2 - Ritual Solsticio Veraoroger santosAinda não há avaliações
- Manual Anamnese HolisticaDocumento14 páginasManual Anamnese HolisticaQuanticaMultidimensionalPT97% (39)
- Artigo EF SC Crises Do Nosso TempoDocumento17 páginasArtigo EF SC Crises Do Nosso Tempomarcosmonteiro5554470Ainda não há avaliações
- O homem é aquilo que ele pensa: Saúde, Felicidade e Abundância Através do Domínio do pensamentoNo EverandO homem é aquilo que ele pensa: Saúde, Felicidade e Abundância Através do Domínio do pensamentoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (16)
- 21 dias para curar sua vida: Amando a si mesmo trabalhando com o espelhoNo Everand21 dias para curar sua vida: Amando a si mesmo trabalhando com o espelhoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (57)
- Neurociência aplicada a técnicas de estudos: Técnicas práticas para estudar de forma eficienteNo EverandNeurociência aplicada a técnicas de estudos: Técnicas práticas para estudar de forma eficienteNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (15)
- Educação ambiental: A formação do sujeito ecológicoNo EverandEducação ambiental: A formação do sujeito ecológicoAinda não há avaliações
- Consciência fonológica: coletânea de atividades orais para a sala de aulaNo EverandConsciência fonológica: coletânea de atividades orais para a sala de aulaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Educação e Fonoaudiologia: Práticas Colaborativas de EnsinoNo EverandEducação e Fonoaudiologia: Práticas Colaborativas de EnsinoAinda não há avaliações
- Mulher do reino: Seu propósito, seu poder e suas possibilidadesNo EverandMulher do reino: Seu propósito, seu poder e suas possibilidadesNota: 5 de 5 estrelas5/5 (6)
- Pergunte: As Questões Que Trazem Poder À Sua VidaNo EverandPergunte: As Questões Que Trazem Poder À Sua VidaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Jogo e civilização: História, cultura e educaçãoNo EverandJogo e civilização: História, cultura e educaçãoAinda não há avaliações
- Teleios - O homem completo: O projeto de Deus para a vida masculinaNo EverandTeleios - O homem completo: O projeto de Deus para a vida masculinaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Formação de Professores para a Alfabetização de Alunos com DeficiênciaNo EverandFormação de Professores para a Alfabetização de Alunos com DeficiênciaAinda não há avaliações
- Inglês Para todos - Aprender Inglês Sem Mistério (Vol 1): 12 histórias com textos bilingue inglês português para iniciantesNo EverandInglês Para todos - Aprender Inglês Sem Mistério (Vol 1): 12 histórias com textos bilingue inglês português para iniciantesNota: 4 de 5 estrelas4/5 (107)
- Limite zero: O sistema havaiano secreto para prosperidade, saúde, paz, e mais aindaNo EverandLimite zero: O sistema havaiano secreto para prosperidade, saúde, paz, e mais aindaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (21)
- Leitura e Escrita: A Subjetividade na Abordagem da Prática nos Anos Iniciais da Educação BásicaNo EverandLeitura e Escrita: A Subjetividade na Abordagem da Prática nos Anos Iniciais da Educação BásicaAinda não há avaliações
- Superando o Ciúme Retroativo: Um Guia Para Superar el Passado da Sua Parceira e Encontrar a PazNo EverandSuperando o Ciúme Retroativo: Um Guia Para Superar el Passado da Sua Parceira e Encontrar a PazNota: 5 de 5 estrelas5/5 (7)
- Contos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNo EverandContos que curam: Oficinas de educação emocional por meio de contosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (8)
- Poder e Alta Performance: O manual prático para reprogramar seus hábitos e promover mudanças profundas em sua vidaNo EverandPoder e Alta Performance: O manual prático para reprogramar seus hábitos e promover mudanças profundas em sua vidaNota: 2.5 de 5 estrelas2.5/5 (9)
- Levante Para O Sucesso: Aumente Sua Energia E Alcance Objetivos Com Uma Rotina MatinalNo EverandLevante Para O Sucesso: Aumente Sua Energia E Alcance Objetivos Com Uma Rotina MatinalNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Chakras: Como Despertar a Sua Energia Interior através da Meditação dos ChakrasNo EverandChakras: Como Despertar a Sua Energia Interior através da Meditação dos ChakrasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (4)
- Dinâmicas de grupo: Ampliando a capacidade de interaçãoNo EverandDinâmicas de grupo: Ampliando a capacidade de interaçãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Piaget, Vigotski, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussãoNo EverandPiaget, Vigotski, Wallon: Teorias psicogenéticas em discussãoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (21)
- Educação Musical: Criatividade e MotivaçãoNo EverandEducação Musical: Criatividade e MotivaçãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)